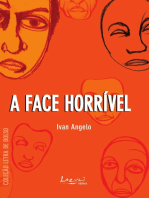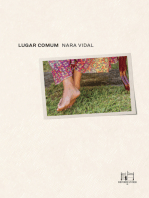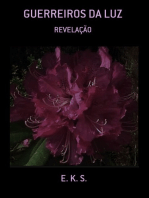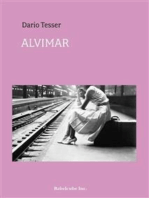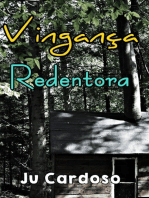Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Susana-Piedade - O-Lugar-Das-Coisas-Perdidas
Enviado por
ÂngelaCardoso0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações181 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações181 páginasSusana-Piedade - O-Lugar-Das-Coisas-Perdidas
Enviado por
ÂngelaCardosoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 181
Ficha Técnica
Título: O Lugar das Coisas Perdidas
Autor: Susana Piedade
Edição: Maria do Rosário Pedreira
Capa: Maria Manuel Lacerda / Leya
Fotografia da capa: © Appu Shaji / EyeEm / Getty Images
Revisão: Madalena Escourido
ISBN: 9789896607449
OFICINA DO LIVRO
Uma editora do grupo LeYa
Rua Cidade de Córdova, n.º 2
2610-038 Alfragide – Portugal
Tel. (+351) 21 427 22 00
Fax. (+351) 21 427 22 01
© 2020, Susana Piedade e LeYa, S.A.
e Oficina do Livro – Sociedade Editorial, Lda.
Todos os direitos reservados de acordo com a legislação em vigor
www.oficinadolivro.leya.com
www.leya.pt
Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico de 1990.
Para o Vítor, a Inês e a Maria Beatriz,
os meus anjos.
1
Um instante.
Acontece deixarmos uma criança a brincar no jardim de casa. Está um dia
de sol, nem uma aragem, sentimo-nos seguros, vamos lá dentro buscar-lhe o
chapéu, ou um brinquedo, ou fechar a torneira que ficou a pingar,
conseguimos ouvir as gotas baterem repetidamente no lava-louça à medida
que nos aproximamos, e quando voltamos ela já lá não está.
Ou enchemo-nos de coragem e mandamo-la para a escola sozinha;
quando éramos pequenos também o fazíamos, e o medo não nos apanhava.
Ela vai de mochila às costas, direitinha pelo passeio, e os carros passam
devagar, não se avista perigo, mas, de repente, um abranda e para mesmo ao
lado dela.
Ou estamos na rua, no centro comercial, ainda há pouco lhe agarrámos a
mão, mas ela sempre a pular de um lado para o outro, teimosa, tão
irrequieta. Distraímo-nos com uma montra, atendemos um telefonema,
cumprimentamos um conhecido, trocamos duas palavras apressadas,
segundos, julgamos que a temos ao nosso lado, ainda agora ali estava, mas,
quando damos conta, perdemo-la de vista.
Ou então ela vai dar uma volta de bicicleta, um passeio no parque, como
tantas outras vezes, diz-nos até já, nem tempo para um beijo, um abraço, se
ao menos o tempo voltasse atrás tantos beijos e abraços que não a
largávamos, mas não regressa.
Nunca mais regressa.
Ninguém imagina que num instante possa perder tudo.
E, às vezes, o medo começa por nos atormentar em sonhos. Como
naquela noite.
A Mariana dormia. Dava voltas na cama, inquieta, os olhos rodopiavam
sob as pálpebras, crescia-lhe um aperto no peito, a respiração era
desacertada, porque todos os estímulos produzidos pelo cérebro lhe
asseguravam que o imaginado era real. O inverso também lhe acontecia
com frequência; sempre achara que a sua vida era um sonho desfeito e
nunca estranhara aquela espécie de limbo em que parecia viver. Afastou o
lençol com um gemido, estremecendo, ansiosa por se libertar do cenário
aflitivo com que se confrontava; o pior de todos.
Mas não era a única a desassossegar-se por causa da Alice.
Enquanto a Mariana sonhava que a filha desaparecia, havia alguém a
sonhar que a fazia desaparecer.
2
Talvez a Mariana tenha pressentido alguma coisa.
Talvez o medo estivesse simplesmente à espera de um motivo para
aparecer.
Acordou aflita, a tentar desprender-se do pesadelo que lhe levava a filha.
A noite seguia lenta e calada, sem sinais de alarme. Pegou no copo em cima
da mesinha e bebeu um gole de água, ajeitou a almofada, fechou os olhos,
fez por adormecer, mas o esforço foi inútil e acabou por se levantar. Entrou
no quarto da Alice às escuras, para não a acordar. Aconchegou-a, deu-lhe
um beijo, sossegou.
Vivia como quem caminha por um passeio estreito, encolhida, a medir os
passos; mas, se lhe desenterrarmos o passado à procura de explicações,
podemos tentar compreendê-la.
A infância nunca foi um sítio tranquilo.
Era a mais nova de cinco filhos, a única rapariga numa casita de lavoura
debruçada sobre o Douro, e tinha apenas nove anos quanto sentiu o
primeiro estremeção. São sempre as piores lembranças que resistem ao
tempo, e ela jamais se esqueceria. O dia seguia encarvoado e chuvoso, e a
casa estava tão calada que se podia ouvir o compasso do relógio na parede
da sala. A Mariana ficou uns segundos a olhar para a boneca de porcelana
no topo do móvel, acomodada entre tarecos, porque era das poucas
recordações que guardavam da avó e o pai não deixava que lhe mexessem.
Ela sabia que ele se zangava por tudo e por nada – os irmãos eram corridos
a cachaçadas sem motivo – e não se atrevia a desobedecer-lhe; mas estava
aborrecida, o temporal impedia-a de sair e, tirando uma caixa de brinquedos
desemparelhados, não tinha com que se entreter. Subiu a uma cadeira, pôs-
se em bicos de pés e tirou a boneca da prateleira. Vista de perto, nem sequer
era bonita, tinha uma expressão sinistra, os cabelos eram ásperos e as
roupas de veludo gasto cheiravam a mofo, mas a Mariana nunca lhe tinha
tocado. Brincou com ela até se fartar e, quando ouviu barulho na porta,
tentou pô-la no sítio, mas desequilibrou-se e deixou-a cair. A boneca
mergulhou de cabeça e partiu-se no chão quase sem barulho. A Mariana
ficou a olhar para os cacos, perplexa, e nem pensou duas vezes: apanhou-os
a correr e escondeu-os num vaso, antes que a surpreendessem em flagrante.
Sacudiu as mãos e dirigiu-se para a cozinha, de olhos colados ao chão,
agindo como se nada fosse. Os irmãos trouxeram um cesto de cavacas para
alimentar o fogo que estalava na lareira e ela aproveitou para se aquecer,
disfarçando a atrapalhação. A mãe pôs uma panela de água ao lume,
estranhando ver a filha tão parada; mas, como estava concentrada nos
cozinhados, não fez caso.
O pai entrou em casa como um trovão, com as botas enlameadas e a
samarra a pingar. Perdera o emprego na serralharia e vinha da taberna a
rosnar como um cão raivoso. Ela arrepiou-se assim que o ouviu chegar:
conhecia-lhe a autoridade das passadas, os modos, o olhar que transbordava
desilusão e maldade. Já o vira naquele estado mais vezes, tantas que sabia
exatamente o que estava para acontecer. Todos sabiam, aliás, pareciam
estátuas, tal era o receio de darem um passo em falso. O pai pousou a boina
e os agasalhos no bengaleiro. De seguida foi à cozinha, pegou na navalha e
cortou uma lasca do queijo velho que restava num prato. Comeu-a junto à
lareira, em duas dentadas, e saiu sem dizer nada. A mãe e os irmãos
libertaram o ar do peito e entreolharam-se tão aliviados que quase
esboçaram um sorriso, mas por via das dúvidas permaneceram calados. A
água da sopa ainda nem levantara fervura quando ele regressou. Trazia na
palma da mão um pedaço de louça e vinha com ganas de abocanhar alguém.
Perguntou quem fizera aquilo, olhando bem para os cinco e, se eles se
pudessem encolher mais, teriam desaparecido por uma frincha da janela.
Foi aí que, sentindo recair sobre si as atenções, de bochechas a escaldar, a
Mariana negou com a veemência de que foi capaz:
– Não fui eu.
Mentia desde pequena. Os irmãos faziam o mesmo e ela aprendera com
eles a sobreviver. O pai nunca se importara muito com a verdade, só
cobrava os erros. A Mariana baixou os olhos e fugiu para o quarto antes de
ele sequer abrir a boca, porque entre eles nunca tinham existido palavras,
não faziam falta.
Os rapazes também tentaram escapar, argumentando que não sabiam de
nada, até que desistiram, na esperança de que o pai se distraísse com outra
implicância qualquer, tinha sempre tanto por onde escolher. Mas ele não
procurou motivos, nem culpados. Encheu-se de razão e distribuiu açoites à
toa. A mãe meteu-se na frente e conseguiu poupá-los, restou-lhe esse
consolo, mas pagou caro o atrevimento. Ele nem precisou de levantar a voz,
chamou a mulher como se lhe fosse fazer um mimo, anda cá, Alice, e ela
sabia o que vinha a seguir.
A Mariana escondeu-se debaixo da cama, a vigiar a porta por entre as
franjas da coberta. Ao fim de pouco tempo, os passos do pai abrandaram
diante do quarto, e ela ficou à espera de o ver entrar de rompante. Estava
tão apavorada que susteve a respiração para não se denunciar e nem se
mexeu, mas ele acabou por se afastar, e o choro que vinha da cozinha foi
afrouxando, até que a casa se calou mais uma vez.
No domingo seguinte, a mãe e os irmãos apanharam o autocarro da
excursão às amendoeiras em flor, em Foz Côa. O pai não quis perder o jogo
do Benfica, que dava ao final da tarde, e qualquer oportunidade era boa para
se distanciarem dele; mas a Mariana viu-se obrigada a ficar em casa. A mãe
não tardou a perceber que fora ela a partir a boneca e, embora a tenha
livrado de umas palmadas valentes, achou por bem dar-lhe uma lição.
O dia custou-lhe a passar, mas fez por não incomodar o pai que,
embalado pelo vinho e pelo trautear da chuva, acabou por adormecer no
cadeirão antes do fim do jogo. Acordou confuso e mal-humorado passadas
umas horas, com um vizinho a bater-lhe à porta, impaciente. A Mariana
caíra no sono pouco antes e despertou com as vozes exaltadas. Levantou-se,
estremunhada, julgando que ainda estava a sonhar com as amendoeiras em
flor que não chegara a ver, e aproximou-se da entrada. O vizinho mal
segurava as palavras quando despejou a notícia. O pai deitou as mãos à
cabeça, cambaleante, com uma expressão que não metia medo a ninguém,
antes pena, parecia um pobre coitado a tentar manter-se de pé.
A Mariana ficou a saber que a ponte caíra naquela noite, levando a que
um autocarro e três automóveis se despenhassem na turbulência do rio. Mas
só mais tarde compreendeu que a mãe e os irmãos tinham morrido. Os
corpos nunca apareceram, como a maioria dos cinquenta e nove que foram
arrastados pela corrente, pois nem sempre o rio e o mar têm a generosidade
de devolver os seus mortos.
Nos dias que se seguiram ao acidente, o pai punha-se a olhar pela janela
como se estivesse à espera de ver chegar a mulher e os filhos a qualquer
momento e, por vezes, a Mariana fazia-lhe companhia. Ela ainda era uma
criança e não sabia lidar com a morte. Em casa não conversaram sobre isso
nem quando a avó se apagara lentamente numa cama antes de a velhice lhe
pegar, e a Mariana nunca supusera que pudesse perder a família de uma
assentada. O pai teve a mesma dificuldade, tal foi a rapidez com que se
entregou ainda mais à bebida para se esquecer do desastre, acabando por se
esquecer também da filha.
Tirando os vizinhos e uma psicóloga que a abordou algumas vezes, a
Mariana não contava com ninguém. Os tios chegaram numa carrinha
Mercedes branca, que abrandou junto à entrada, enquanto as escovas do
limpa-para-brisas empurravam furiosamente a chuva, e as expressões que
traziam combinavam com o luto do próprio dia. Viam-se tão raramente que
tiveram de dar voltas à casa antes de baterem à porta para se certificar de
que estavam no sítio certo, e a Mariana também não os reconheceu, tal era a
distância a que o pai se encarregara de manter os parentes da mulher. O
António falava como se lhe custasse escolher as palavras, mas tinha um
olhar meigo, como alguns cães que pediam festas. A Josefa também não era
de fazer conversa, talvez a morte da irmã lhe tivesse tirado a vontade de
falar, e até as feições se lhe endureciam de mágoa. Ainda assim, a Mariana
agarrou-se imediatamente à tia, e ela, surpreendendo-se,
– Então, filha?…
disfarçou a comoção.
As semelhanças entre elas eram tantas que passavam facilmente por mãe
e filha, e estava ali a hipótese de se tornarem uma família de verdade.
O pai enxotou a Mariana com rispidez, preocupado em acomodar os
cunhados na cozinha, e lá permaneceram o tempo que levou a esvaziar meia
garrafa. Falavam tão baixo que seria impossível escutá-los, ainda que a
Mariana soubesse exatamente qual era o tema da conversa. Foi-se embora
nesse mesmo dia, entre o alívio e o desgosto, enquanto a tia lhe fazia uma
trouxa a empurrar duas lágrimas, e o pai se despedia dela sem beijos nem
abraços, ressentido. Já mal conseguia olhar para a filha, pois só lhe
lembrava os outros que havia perdido, e ainda fez uma série de advertências
aos cunhados, como se vendesse uma peça com defeito, mas eles não
quiseram saber.
Antes de se fazerem à estrada, foram despedir-se. O António abriu o
guarda-chuva para se abrigarem, e os três contemplaram o rio com o ar
solene de um enterro; não tinham mais nada, aquele era o único local para
visitarem os seus mortos. A Josefa levara um molho de flores brancas e
lançou algumas, vendo-as sucumbir à força das águas. Depois agachou-se
diante da sobrinha e entregou-lhe as restantes, dizendo-lhe baixinho:
– Toma, atira-as e diz-lhes adeus.
A Mariana deitou as flores todas de uma vez, mordendo os lábios para
não chorar, enquanto se despedia da mãe e dos irmãos, arrependida de não
ter ido com eles, porque a culpa era um peso estranho já em criança. A
seguir, pousou a sacola que trazia ao ombro e tirou a boneca de porcelana
feita em bocados. Não sabia se havia de se sentir grata ou revoltada – os
sentimentos esbarravam uns nos outros – mas nunca mais queria olhar para
aquela boneca horrenda; por isso, arremessou os cacos ao rio. Ficaram só as
lembranças.
A vila onde os tios moravam cheirava a mar e a campos de lavradio. Os
dias eram levados a vento e, pela manhã ou ao anoitecer, teimava em
assentar-lhe uma névoa fina que embaciava a paisagem, tornando-a mais
cinzenta. Mas, quando o sol a descobria, mostrava-lhe as cores e as formas
e os pequenos encantos das coisas simples.
Na altura em que a Mariana ali chegou, só se falava na queda da ponte, as
pessoas olhavam para ela de lado, a esconder a pena e os cochichos, mas
aos poucos foram-se esquecendo. A Josefa afeiçoou-se à sobrinha quase
instantaneamente e, nos primeiros anos, o amor e o sangue encarregaram-se
de as aproximar. Havia tanta cumplicidade entre elas que o António se
fingia enciumado. Toda a gente rodeou a Mariana de atenções e ela nunca
se sentiu uma estranha; muito pelo contrário, era como se, de certa forma, a
família tivesse aumentado, uma espécie de recompensa pela que havia
perdido.
A Glória e a Cremilde, duas viúvas amigas da tia, conheciam-se desde
sempre e já não viviam uma sem a outra. Eram ambas muito afetuosas, não
podiam ver ninguém desamparado que se prontificavam logo a ajudar, e
tornaram-se uma espécie de avós da rapariga. A Glória era a dona da
mercearia, não parava um segundo, apesar de a idade lhe ir deixando
avisos; e, sempre que via a Mariana passar, chamava-a em segredo para lhe
encher os bolsos de rebuçados. Os filhos e os netos moravam longe, e ela
não perdia uma oportunidade de estragar as crianças com mimos. Filha de
pescadores, a Cremilde nunca fez as pazes com o mar desde que o pai e os
irmãos morreram num naufrágio; ficou-lhe sempre uma neblina nos olhos.
E, se não fosse pela Glória, que não a largou nos piores momentos, ter-se-ia
deixado levar pela solidão quando chegou a vez do marido. Tinha fama de
ser a melhor costureira por aquelas bandas e, assim que conheceu a
Mariana, comprou logo tecidos para lhe fazer vestidos novos e meadas de lã
para lhe tricotar camisolas grossas no inverno.
A taberna local era governada por uma mulher muito jovem chamada
Isaura, mas, apesar do seu aspeto delicado, era tão tesa que ninguém se
metia com ela; e, como tinha uma filha da idade da Mariana, a amizade
entre as três foi medrando.
A Mariana sentiu que ali podia ser feliz e habituou-se depressa ao afeto e
às comodidades. Mas a determinada altura deslumbrou-se, abandonou os
estudos, fez escolhas erradas. Ficou grávida logo no primeiro namorico e só
o confessou aos tios quando se tornou impossível disfarçar a barriga com
cintas e roupas largas. Ao saber da notícia, o António conformou-se, usando
de benevolência, mas a Josefa ficou desgostosa, porque desejava que a
sobrinha tivesse um canudo nas mãos e uma vida melhor do que a sua, e só
se enterneceu com a chegada da criança quando assistiu à primeira
ecografia.
Tudo se ficava a saber na vila e a Mariana não se livrou das críticas,
embora a Josefa se insurgisse quando falavam mal da sobrinha, porque
ninguém gosta que os de fora apontem o dedo aos seus; mas quando a
criança nasceu apegaram-se a ela e o assunto caiu no esquecimento. O rapaz
desapareceu depois de a Mariana lhe contar da gravidez; a ambição e os
planos não contemplavam amarrar-se a uma família assim tão novo.
Abandonou-as no momento mais assustador da vida da Mariana, sem se
importar com a filha que ela carregava no ventre, tratando-a como um
estorvo, um azar, deixando-lhe não mais do que um nome no papel do
registo. E de que vale um nome sem corpo nem alma? Não é pai nem mãe
quem procria; qualquer um faz isso sem grande esforço. A Mariana também
não estava preparada para os encargos da maternidade, nunca os quisera,
mal sabia tomar conta de si mesma quanto mais ter a vida de alguém nas
mãos; mas, quando lhe pousaram a filha no peito, tudo se transformou.
Deu-lhe o nome da mãe, Alice, o único que parecia combinar com ela, e
naquele momento sentiu que a filha era aquele bocadinho de felicidade que
lhe faltava.
Mas o medo arranjou esconderijo dentro dela.
Quando regressou ao quarto, naquela noite tempestuosa, estava mais
calma e conseguiu finalmente adormecer. Só mais tarde voltou a lembrar-se
do sonho que tivera, e afastou-o como uma lembrança incómoda.
Longe de saber que havia sonhos que eram reais.
3
O dia começou por ser igual aos outros nas pequenas coisas.
A manhã foi nascendo, devagar, na serenidade de junho. As pessoas
levantavam-se, abriam as portadas, punham o nariz de fora para sondarem o
tempo, mandavam os filhos para a escola – já mais vagarosos nos últimos
dias de aulas –, iam para o trabalho, algumas andavam tão desencontradas
que se refugiavam na tasca da Isaura horas a fio. Cumpriam rotinas,
cruzavam-se na padaria ou no quiosque dos jornais e cumprimentavam-se a
correr, mas estavam tão habituadas a ver-se que poderiam passar umas pelas
outras sem se aperceberem.
Assim que o tempo começava a aquecer, a vila ganhava outro compasso.
Além da gente que se criara na terra e uns quantos forasteiros que se
renderam aos ares do Norte, chegavam sempre turistas e veraneantes. A
casa do Jeremias era quase uma atração local, só faltava lá pôr uma tabuleta
e cobrar entrada, porque havia um interesse mórbido por histórias trágicas.
As velhas da igreja apregoavam que estava assombrada: quando se
aproximavam dela mudavam de passeio, tecendo uma ladainha para si
próprias, e até tentaram convencer o padre a benzê-la. Certa vez, alguém
deixou uma vela acesa e uma galinha degolada à porta, e o Presidente da
Junta lá mandou limpar a rua, mas nenhum funcionário tocou naquilo, à
cautela; foi tudo retirado com a pá. As pessoas iam conspirando enredos,
espantando a miudagem que se aventurava até à entrada, mas o crime que
ocorrera naquela casa fora real e deixara marcas.
Havia muitos anos, um lavrador chamado Jeremias assassinara lá a
família a sangue-frio. Percorrera os quartos de caçadeira em riste, semeando
a morte por onde passava, e suicidara-se antes de a Guarda chegar. Dos seis
filhos, apenas um escapara à carnificina, o mais novo, e o rapaz nunca
recuperou o tino para contar a história em condições, mas as más-línguas
apressaram-se a ver nele o caráter do pai. Passaram até a tratá-lo pelo
mesmo nome, como se ele o tivesse herdado com a tragédia. O Jeremias
não vendeu a casa – por mais que baixasse o preço ninguém lhe pegava,
para levar com espíritos mais valia morar junto ao cemitério, diziam os
mais crentes –, mas também nunca fez nada dela. Corria o boato de que
reapareciam borrões de sangue nas paredes e no soalho, que a meio da
madrugada se ouviam os cartuchos trespassarem o ar, e a verdade é que as
pessoas se foram deixando contaminar por essas crendices. De vez em
quando o rapaz aparecia, deixava a carrinha estacionada na rampa dias
seguidos sem dar sinal de vida, o que só empolava as intrigas.
E, naquela manhã, a carrinha branca estava lá parada, no sítio do
costume. Mas ninguém reparou quando ele saiu.
4
A Isaura acordava quase sempre à mesma hora, como se trouxesse um
relógio no corpo. Atirou um braço para o lado, habituada a ter a cama só
para si, e foi então que deu pela presença dele, morna, não inteiramente
desagradável, a trazer um cheiro diferente aos lençóis. Voltou-se e olhou
para o homem que dormia profundamente ao seu lado, com o tronco
coberto e a cabeça aninhada na almofada. Pareceu-lhe tão tranquilo que
teve pena de o acordar. Chamou-o baixinho, tocou-lhe no ombro, mas ele
nem se mexeu; e, apesar de preferir que ele saísse antes de andar gente na
rua – pois, se o vissem, não tardariam a chover intrigas –, também lhe
custava mandá-lo embora. Levantou-se sem fazer barulho e apanhou as
roupas e a toalha de banho do chão, às apalpadelas, deixando-o a descansar.
Como pudera deixar aquilo acontecer? − perguntava-se, surpreendida. Não
devia tê-lo convidado para sua casa, ainda que o tivesse feito com a melhor
das intenções. Eram amigos, nunca admitira mais do que isso; mas, de
repente, os dois ali sozinhos, tão magoados, à espera sabe-se lá do quê que a
vida não lhes trazia, um esbarrão no corredor e um calor estranho por todo o
corpo. Talvez se tivessem deixado levar pela solidão.
Costumava ser cautelosa nas relações, desde que o divórcio, ainda nova,
lhe roubara a fé nos homens, mas de vez em quando lá aparecia um que lhe
amolecia o coração. Nunca os levava muito a sério. Cansava-se depressa da
cara deles, do cheiro, da maneira como falavam, das manias, ninguém
imaginava as esquisitices de alguns, havia sempre algo de que acabava por
se fartar. E, mesmo sabendo que o sexo, por si só, era um prazer efémero
que não lhe curava as feridas mais profundas e que, ao fim de meia dúzia de
noites, já lhes estava a pedir que não voltassem, pelo menos podia afastar-se
sem sentir que perdera alguma coisa. Se porém cedesse às investidas do Zé,
o caso seria muito diferente, mas a hipótese da felicidade assustava-a tanto
como qualquer desgraça.
Abriu a taberna ainda antes das sete. Guardou os jornais que estavam à
porta, recebeu o pão, os doces, os salgados frescos que encomendava à
vizinha, reservando alguns para as duas viúvas, abasteceu as prateleiras,
colocou as cadeiras e as mesas no lugar, assegurou-se de que estava tudo
limpo e apresentável. Adiantou o essencial; a meio da manhã trataria de
terminar a sopa e os petiscos que iam variando consoante os dias e a
disposição. Pegou na tela de ardósia e anotou as sugestões para o almoço,
em letras garrafais que tocavam o palato ao longe.
A casa vestia-se de um amarelo garrido quase ofensivo, era acanhada e
tinha um cheiro a velho, a vinho e a enchidos; mas apesar da traça pitoresca
não era uma taberna vulgar: era o lugar de tudo e de todos. Toda a gente
frequentava a tasca da Isaura, desde o varredor de ruas ao mais respeitado
autarca, e até o padre costumava aparecer nos intervalos das missas para
tomar café e adoçar a boca com uns pastelinhos; podia entrar quem
quisesse, porque a Isaura recebia toda a gente de coração aberto. Tolerava
os bêbados, os intriguistas, era particularmente solidária com os sem-
abrigo, só não consentia desacatos nem descomposturas. E nem precisava
de chamar a polícia. Os primeiros arruaceiros que expulsou voltaram
mansos e envergonhados, e a proeza não se repetiu.
Tendo o serviço encaminhado, encostou-se ao balcão para se inteirar das
notícias. O ecrã era enorme, um gigante suspenso sobre uma caixa de
fósforos. Fora uma dificuldade colocá-lo no sítio, e ainda a alertaram para
as questões de segurança, porque a parede não dava garantias de aguentar;
mas ela não descansou enquanto não fez valer a sua vontade. Em dias de
jogo a casa ficava a abarrotar. As portas abriam-se, as cadeiras
ensarilhavam-se no passeio, e o som projetado das goelas do gigante
chegava à rua. Não faltavam cafés e restaurantes na zona, mas não existia
um lugar como a tasca da Isaura para se ver o futebol, beber e destravar a
língua.
Ainda não eram oito horas quando chegaram os primeiros madrugadores;
alguns saíram depois de um café tomado à pressa, outros deixaram-se ficar,
comeram, beberam, leram o jornal, fizeram conversa, porque estavam de
férias, ou desempregados, ou não tinham para onde ir.
O Zé entrou e sentou-se ao fundo da sala. A Isaura sentia o coração
desacertado sempre que o via e ele nunca escondera as intenções, era
transparente como vidro, mas não passavam dali. Ela levou-lhe um café,
como de costume, e trocaram trivialidades durante uns minutos, porque o
difícil era falarem de si próprios. Ao contrário do que acontecia com outros
homens que lhe tocaram de raspão, a Isaura não se cansava de o ver, de lhe
ouvir a voz, não havia nada nele que lhe causasse aversão. E, de vez em
quando, lá ia cedendo aos encantos dele, mas com muita cautela. A Isaura
era uma espécie de estilhaço, um dia partira-se e nunca mais tivera
conserto. As pessoas que se partem não fazem nada do amor, às vezes ficam
só à espera e deixam-no passar, com medo de se desfazerem por completo.
Mas o Zé era persistente, não desistia à primeira, andava de roda dela fazia
muito tempo, a tentar conquistá-la com coisas que pareciam pequenas e, no
entanto, eram enormes, gigantescas. Como naquela altura, virando-se para
ela:
– E então, Isaura, vamos a Londres ver a tua filha?
Como quem diz, estou aqui, fecha a tasca por meia dúzia de dias,
ninguém se rala, quando voltares estará tudo na mesma. Como quem diz,
podemos ser felizes. E ela, calada, sem saber o que responder, emocionada,
porque o ex-marido não ia com ela nem ao cinema e, se fosse, adormecia a
meio do filme ou voltava para casa a resmungar da estafa, como se tivesse
feito um grande esforço. Enquanto o Zé lhe falava de Londres como quem
falava de ir ali ao mercado, às Caxinas, ou dar um passeio pela Baixa do
Porto, fazia disso uma coisa pequena, insignificante, para não a assoberbar
com a importância do gesto.
E, de repente, pensou em dizer-lhe
– Vamos.
Simplesmente
– Vamos.
sem nunca ter andado de avião, porque só a ideia a aterrorizava, nem se
preocupar com o facto de nenhum deles perceber patavina de inglês e de ter
ouvido dizer que por lá só comiam hambúrgueres ou peixe frito enrolado
em jornal, o que lhe dava logo vómitos. A ideia da felicidade, ali tão perto,
concebível, quase alcançável, completamente aterradora.
E, talvez por isso, em vez de
– Vamos.
– Inglaterra é tão longe…
levantando a chávena, enquanto limpava apressadamente a mesa para
disfarçar o embaraço.
O Zé pagou e foi-se embora desanimado. A Isaura quis chamá-lo, mas
limitou-se a vê-lo sair, receosa de que um dia ele se cansasse de esperar por
ela e não voltasse.
5
Uma luz tímida atravessou a persiana e o António levantou-se sem
acordar a Josefa. Parou a caminho da casa de banho, amparou-se na parede,
o rosto num esgar quando voltou a sentir a mesma dor nas costas.
Recompôs-se, não era a primeira vez que se ressentia do esforço e, se o
pessoal da obra o apanhasse a fraquejar, havia de ser bonito. Ainda uns dias
antes tivera de ensinar um dos trolhas a assentar tijolos, deixando as juntas
certas, e se calhasse de se distrair nem verificavam se as paredes estavam
aprumadas.
Depois de pronto, dirigiu-se à oficina e trancou a porta. Passou por um
móvel coberto com um lençol velho, sem lhe tocar. Abriu uma gaveta e
olhou lá para dentro, mas voltou a fechá-la. Sentou-se numa tábua e ali
ficou. Era capaz de passar horas de volta das ferramentas e de uma prancha
de madeira, a esculpir peças e móveis que depois repartia pelos vizinhos,
porque havia muito que a Josefa deixara de lhes achar graça. Aquele era o
seu refúgio sempre que precisava de pensar ou estar sozinho. Nunca fora de
se isolar nem de se render a tristezas, parecia-lhe um desperdício de tempo,
mas agora tinha as suas telhas e não gostava de as partilhar com ninguém. E
naquele dia precisava de espantar os maus pensamentos a qualquer custo.
Ao fim de meia hora, endireitou-se, limpou a garganta com uma tossidela
grossa e foi-se embora.
A manhã mal começara quando entrou na taberna, com as botas de
trabalho a deixarem um rasto de pó e o saco da merenda a balançar-lhe na
mão. Alguns homens tinham navalhas na língua, mas a Isaura travou-lhes a
conversa com o pano da louça sacudido no ar:
– Caluda, corja de alcoviteiros.
E, depois disso, um palavrão que logo os meteu na ordem.
As vozes foram-se calando à chegada do António, as cabeças rodaram na
direção dele e inclinaram-se num cumprimento vago. Ele saudou
desinteressadamente os três gatos-pingados que encontrou ao balcão e
reservou o sorriso para a Isaura. Ela ainda era das mulheres mais bonitas da
vila, mas o António via-a como uma amiga, uma irmã. A Isaura sempre fora
muito apegada à Mariana e era a madrinha da Alice, o que os tornava
família. Nenhum deles contava com os poucos parentes que lhe restavam
nem se imaginava longe dali.
A conversa girava em torno do farmacêutico, que estava cada vez pior
desde que caíra à cama, e corria o boato de que a família já pedira ao padre
que lhe desse a extrema-unção. Um dos madrugadores grunhiu qualquer
coisa para o do lado e acendeu um cigarro às escondidas da Isaura,
espantando o fumo com a mão. Tratavam-no há tanto tempo por Coxo, por
causa do andar meio torto, que lhe esqueceram o nome. O Coxo era dono
do talho, os pais geriam um negócio de carnes havia muitos anos, e ele, que
nunca conhecera outra vida e não estava para invenções, dera-lhe
continuidade. Nem todos teriam estofo para aquele trabalho, só o cheiro e a
visão dos bichos despedaçados na montra já embrulhavam o estômago de
muita gente; nenhuma das mulheres com quem se relacionava se aguentara
mais do que um par de meses, mas ele parecia retirar algum prazer daquela
ocupação. Não lhe faltava dinheiro, entrava e saía quando queria, porque o
ajudante dava bem conta do recado, e tinha sempre audiência para trocar
mexericos, bastava-lhe dar corda. As pessoas achavam-lhe graça porque ele
se desfazia em mesuras, lhes conhecia as preferências, até lhes levava as
compras a casa se fosse preciso; e, ainda que não o admitissem, gostavam
de ficar a par das novidades. Já o ajudante era precisamente o oposto: um
homem de expressão austera, palavras escolhidas a dedo, tão metido
consigo que ninguém sabia ao certo de onde era, e só os miúdos lhe
conseguiam arrancar um sorriso. Atirava os nacos de carne para a tábua
com brusquidão e acertava-lhes com o cutelo a um ritmo preciso, sem
nunca se desconcentrar. Nem o patrão gostava dele: tanto silêncio
incomodava-o, o homem não se ria de uma só piada e às vezes ainda o
olhava de lado; mas trabalhava bem, mantinha o estabelecimento em
ordem, e também não havia candidatos ao lugar. Acontecia, por vezes,
cruzarem-se na tasca e fumarem um cigarro à porta, pois a Isaura enxotava-
os mal sentia o cheiro do tabaco, mas não tinham o que os mantivesse
juntos por muito tempo.
E naquela manhã assim foi.
O ajudante saiu tão calado conforme entrou e, pouco depois, o patrão
pagou e fez o mesmo. A Isaura procurou distrair o António, perguntando-
lhe pela afilhada; e normalmente a Alice daria um bom tema de conversa,
mas naquele dia ele estava tão alheado que não guardou memória do que
lhe respondeu.
Contrariando a vontade, o António pediu apenas um café e tomou-o em
silêncio, enquanto fingia prestar atenção à conversa da amiga. Depois tirou
duas moedas do bolso e seguiu o rasto de pó que deixara no chão.
Só mais tarde a Isaura se apercebeu de que ele se esquecera da marmita e
ainda tentou avisá-lo, mas o António estava de cabeça perdida e nem ouviu
o telefone tocar.
*
A Josefa fez de conta que dormia até a porta se fechar quase
silenciosamente. Havia dias em que lhe custava encarar o marido, não só
pela culpa, à qual parecia ter-se habituado com algum despudor, mas porque
se perdera qualquer coisa entre eles. Levantou-se e desenrolou uma
cantilena ao crucifixo na parede, mais por costume do que por fé autêntica,
pois, com o que fazia de errado, nem Deus se atreveria a estender-lhe uma
mão. Prendeu o cabelo num puxo desconchavado sem se olhar ao espelho,
vestiu a bata e calçou os sapatos. Estava pronta.
Pelo caminho cruzou-se com a Glória, que acelerava o passo para ir a
uma consulta no centro de saúde, prometendo-lhe que, no final da semana,
lhe limparia a casa. A Josefa perdera a mãe ainda nova, o pai fora-se no
espaço de um ano, como se tivesse encontro marcado, sem falar da tragédia
que lhe levara a única irmã e os sobrinhos, e as viúvas sempre olharam por
ela. Por isso, não lhe custava nada fazer-lhes pequenos recados e ajudá-las
nas tarefas domésticas, sobretudo desde que a Glória tomava conta da
amiga; era uma forma de demonstrar gratidão. A Cremilde estava sentada
no pátio, de olhos perdidos no horizonte, e não deu sinais de a reconhecer,
mas já ninguém estranhava aquelas flutuações da mente.
Ao contrário do que era normal, a Josefa não se dirigiu a casa do padre,
nem o viu sair ao raiar do dia. Olhou em redor e assegurou-se de que não
havia ninguém por perto. Passara tanto tempo que não sabia se teria
coragem para o fazer.
Mas talvez estivesse na hora.
6
A Clara fez alarido com um jogo ruidoso, logo pela manhã. Tinha dois
anos, fios de sol nos cabelos e uns olhos azuis iguaizinhos aos da mãe. Não
lhe faltava charme, nem a graça das palavras próprias da idade, e era
normalmente o centro das atenções. Estavam sentados à mesa, a tomar o
pequeno-almoço, quando ela empurrou a taça da fruta e pediu uma bolacha
de chocolate. A mãe recusou-se a fazer-lhe a vontade, com uma explicação
firme, mas a pequena esperneou na cadeira, ao ponto de a face ganhar um
tom ruborizado e os olhos se encherem de lágrimas. Como de costume, o
Artur comoveu-se e acabou por sucumbir à birra, antecipando a repreensão
afetuosa que se seguiu:
– Estraga-la com mimos.
Ele encolheu os ombros, trocando um sorriso cúmplice com a filha, que
trincava a bolacha com ar de triunfo. Tirou-a da cadeira, erguendo-a no ar e
levou-a para o sofá, onde brincou com ela. Ouvia-se o riso eufórico da
Clara quando o pai lhe fazia cócegas. Os dois eram tão próximos que, às
vezes, a Elisa ficava com a sensação de que a filha gostava mais dele e só
não se entristecia porque tinha tudo o que desejava.
– Cuidado, que ela acabou de beber o leite e ainda fica maldisposta –
interveio, preocupada, levantando a mesa.
– Está bem, mamã…
O Artur acatou a recomendação, conformado, mas ainda fez mais umas
cócegas à socapa. Pouco depois, despediu-se com um beijo na mulher e
outro na filha e saiu para o trabalho.
A Elisa levantou a ponta da cortina e espreitou pela janela. A filha da
Salomé estava sentada no outro lado do passeio, à espera da mãe e do
irmão, para irem para o colégio. Segurava o queixo com a mão e parecia tão
enfastiada com a demora deles que nem a viu acenar-lhe. O Artur
atravessou a rua e, ao passar por ela, inclinou-se para lhe fazer um carinho
no rosto. A Elisa sorriu e foi arrumar a cozinha.
Antes de arrancar, o Artur abriu o vidro para cumprimentar a Salomé,
enquanto os miúdos foram andando para o carro, aborrecidos. A Salomé era
muito efusiva, estava sempre com a energia em alta e falava tão depressa
que deixava o Artur um pouco atordoado; mas, pelo menos, assim os alunos
não adormeciam nas aulas, gracejou para si próprio, sorrindo-lhe. A Salomé
e a Elisa davam-se bem, sempre que se encontravam perdiam-se na
conversa e, embora os filhos tivessem idades muito diferentes, gostavam de
brincar juntos. A Salomé continuou a tagarelar até entrar no carro, mas
ainda lhe atirou umas palavras da janela.
O Artur olhou para o relógio, preocupado com as horas, e ligou a ignição,
mas o carro engasgou-se e só à terceira é que ganhou forças para arrancar,
lembrando-o de que estava nas últimas. Ele deu-lhe uma palmadinha no
tabliê, aliviado, e foi-se embora. Tinha um dia cheio pela frente.
7
A Mariana levantou-se, ainda ensonada, escapando aos tentáculos do
pesadelo que lhe estragara a noite, e acordou a filha.
Tomaram o pequeno-almoço juntas, cada uma numa ponta da mesa,
conversando por entre o barulho de fundo da televisão, o que tornava as
manhãs agradavelmente ruidosas. Viviam só as duas, desde que a Mariana
tinha saído de casa dos tios, mas a solidão não se fazia sentir com a Alice
por perto. A Mariana não tinha aspirações, sonhara sempre baixo porque
nunca se achara merecedora de grandezas, mas gostava de trabalhar na
mercearia. A Glória tinha um coração enorme, estava sempre atenta às
necessidades dos outros e, quando lhe oferecera emprego, sabia muito bem
o empurrão que lhe estava a dar. Era tão generosa que separava parte das
provisões que recebia da quinta para a Mariana, não deixava ninguém
passar fome e, se lhe aparecessem na loja a contar os trocos para comprar
arroz ou batatas, porque a vida tem os seus sobressaltos e quem nunca
tropeçou em alguns?, vendia-lhes fiado e até chegava a perdoar dívidas. Nas
horas em que o movimento abrandava, a Mariana entretinha-se a lavar as
prateleiras e a repor os produtos, mantendo a loja tão irrepreensível que a
patroa e os clientes não lhe poupavam elogios. O que ganhava não era
suficiente para dispensar a ajuda dos tios, mas pagava a maioria das contas
e dava-lhe alguma estabilidade. Não o partilhava sequer com a Isaura,
talvez por vergonha, medo de que a achasse uma tonta, mas havia alturas
em que não sabia o que fazer da vida: olhava para o futuro e não via nada,
nevoeiro cerrado, qualquer passo um risco enorme. E de tão absorvidos
pelas suas próprias aflições, ninguém reparava que
a Mariana, equilibrista,
estava presa por um fio.
De vez em quando ponderava nas escolhas que fizera e no que poderia ter
alcançado se não tivesse engravidado tão jovem. E talvez o cenário fosse
outro e o futuro tão claro que o pudesse ver ao longe. Mas imaginar-se sem
a filha era um contrassenso, um vazio; a sua vida seria sempre a falta dela.
Se não fosse pela Alice, já teria perdido o rumo havia muito tempo.
Passava pouco das oito quando o telemóvel tocou. A Mariana identificou
a chamada, mas não atendeu. Passados minutos, voltaram a ligar e ela
afastou o telemóvel, irritada. O número era sempre o mesmo e a conversa
também; estava cansada de tanta insistência. Quando a filha lhe perguntou
quem era, deu-lhe a primeira desculpa que lhe ocorreu:
– Engano.
– Mas como é que sabes que era engano se não atendeste?
(Porque parece que as crianças estão distraídas, mas o radar está sempre
ligado.)
A Mariana bebeu o café, enquanto procurava mudar de assunto, mas não
foi preciso. A Alice andava tão entusiasmada com a ninhada de gatos que
nascera na quinta que não falava de outra coisa. As crianças gostavam de
brincar no terreno e ajudar o caseiro que, por mais atarefado que estivesse,
arranjava sempre tempo para elas. Talvez por ter um filho especial que o
ensinara a ver o mundo com outros olhos. Nenhum dos médicos que correra
avançara uma explicação concreta para a doença dele, nem quês nem
porquês, mas o problema saltava à vista: o rapaz tinha o seu próprio ritmo,
andava sempre na lua e não gostava de ir à escola; preferia correr atrás das
galinhas na quinta, apanhar bicharocos e lagartixas ou juntar-se às meninas,
porque os rapazes troçavam da sua falta de jeito e punham-no de parte nas
brincadeiras. Era uns anos mais velho que a Alice, mas tinha um ar
bonacheirão que não amedrontava ninguém; e, apesar de alguns o acharem
esquisito, a Mariana nunca viu motivos para o afastar da filha. Já bastava o
facto de a mãe o ter deixado antes de ele saber contar pelos dedos,
porventura assustada com as dificuldades que engrandeceriam com o
tempo. Pelo menos, foi aquilo que o caseiro disse a toda a gente, que ela se
tinha acobardado e desaparecido, e ninguém pôs isso em causa. A verdade é
que nunca mais a viram e o homem lá foi criando o filho sozinho, como se
fosse um dos bichos enjeitados que costumava resgatar. No mês anterior,
adotara uma gata que chegara lá prenhe e esfomeada, mas desaparecera
pouco depois de nascerem as crias. Os miúdos encheram-se de pena dos
bichanos, acomodaram-nos num cesto de vime forrado com jornais e uma
manta velha e passavam lá quase todos os dias para cuidar deles. Na
iminência das férias, a Alice pediu à mãe para ficar com um gatinho – como
de costume, combinou a estratégia com a filha da Salomé, porque as duas
não se largavam –, mas a Mariana estava tão exausta da noite mal dormida
que não lhe prestou grande atenção. Disse-lhe que iria pensar no assunto, só
para não a desiludir, e mandou-a terminar o pequeno-almoço antes que se
atrasasse para as aulas.
A Alice ia para a escola sozinha; a iniciativa partira dela, já que só tinha
de andar duas centenas de metros para lá chegar e quase não havia trânsito.
A Mariana demorou a habituar-se à ideia, parecia-lhe demasiado cedo, oito
anos ainda frescos, tinha tanto medo do que pudesse acontecer, mas não
podia criá-la numa redoma e acabou por lhe fazer a vontade. Ela própria
andara sozinha por todo o lado desde criança, brincava na rua até ao
anoitecer, e nunca lhe acontecera nada. O meio era pequeno, não se
conheciam perigos, e era natural que pelo caminho a filha encontrasse
algum colega que lhe fizesse companhia. Seria até uma forma de incutir
nela confiança e sentido de responsabilidade, dando-lhe autonomia. A Alice
comprometera-se a respeitar as regras religiosamente, decorara-as e
repetira-as inúmeras vezes para tranquilizar a mãe, e costumava enunciá-las
em jeito de lengalenga quanto estava prestes a sair de casa:
andar com cuidado;
atravessar na passadeira;
não falar com estranhos.
Mas naquele dia estava tão excitada com a história dos gatos que se
esqueceu.
A Mariana despediu-se da filha ao portão e ficou a vê-la afastar-se,
saltitante e despreocupada, com a mochila azul às costas, onde badalava um
bonequito. Ainda lhe ocorreu lembrar-lhe:
andar com cuidado; atravessar na passadeira; não falar com estranhos,
mas já a tinha perdido de vista.
Respirou fundo e entrou em casa, descansada,
sem reparar que alguém a observava do outro lado da rua.
8
Começava a entardecer.
Na tasca, as pessoas encolhiam-se entre as mesas, apinhavam-se ao
balcão, o burburinho das conversas misturava-se com a vozearia do gigante
ligado no futebol e o bater dos pratos que circulavam num vaivém
constante. Os copos esvaziavam-se e voltavam a encher-se. O Presidente da
Junta, que ao longe se assemelhava a um boneco insuflável, vinha corado e
debatia-se com uma gravata de padrão exuberante que não combinava com
nada, enquanto esperava que a Isaura lhe tirasse o café.
O professor apareceu de cigarro entre os dedos, com um aspeto
enxovalhado que não surpreendia ninguém. Parecia ter-se vestido à pressa e
até os sapatos cediam à velhice. Trazia os olhos encovados, a barba por
fazer, nenhum sorriso lhe aliviava a expressão. Atirou as boas-tardes para o
ar, inseguro, mas, à exceção da Isaura, ninguém lhe retribuiu o
cumprimento. Espreitavam-no por cima do ombro, com desconfiança,
trocavam olhares. Ele pediu um café, apagando a beata antes que a Isaura
apontasse para o dístico na porta com má cara, e atreveu-se a acrescentar
um bagaço, o que provocou logo comentários mordazes. Um dos sujeitos
que estava ao balcão acomodou o palito nos dentes e foi mordendo as
palavras, desdenhoso, enquanto dava uma cotovelada ao do lado e olhava
em redor para espicaçar o compadrio.
Foi o bastante para que os demais se juntassem ao magote para troçar do
professor. E não era pelo facto de ele beber, cada um com os seus vícios,
mas porque se alimentavam das fragilidades alheias. A Isaura deu-lhes uma
reprimenda enérgica, ainda mais zangada do que era costume, ameaçando
que se não se calassem os mandava direitinhos para a rua, e os ânimos lá
sossegaram. Sentia pena do professor, bem como de todos os
desafortunados, porque às vezes a vida mudava de um dia para o outro e
ninguém sabia em que situação poderia vir a encontrar-se.
A história não era novidade para ninguém. O professor enchera-se de
dívidas por causa do jogo e perdera tudo. Quando se apercebera da
dimensão do problema, já o banco lhes tomava a casa e o que sobrara dos
bens. A mulher nunca lhe perdoou, regressou a casa dos pais com os filhos
e a Tabuada, a gata que ele encontrara escondida na garagem. Não tardou
até que os boatos alastrassem, e isso deveu-se em grande parte ao Coxo e às
velhas desocupadas que faziam da vida dos outros uma trama. De repente
cismaram que ele não devia continuar a dar aulas, que depois de um vício
vinha outro, que o demónio buscava a maldade nas pessoas; mais um
degrau na conversa e alguém levantou suspeitas sobre a maneira como ele
olhava para as crianças. Não descansaram enquanto não lhe tiraram o
emprego e o resto da dignidade. A Junta deu-lhe abrigo, e os poucos que o
defenderam, como foi o caso da Isaura, da Glória e da Salomé, trouxeram-
lhe mantimentos e agasalhos, mas o homem pairava pela rua como um
mendigo. Não era a primeira vez que o viam sentado no muro da quinta, ou
nas traseiras do parque infantil, junto ao terreno de eucaliptos por onde as
pessoas rasgavam o ar da madrugada para levarem os cães a passear, com
um cigarro nos dedos e uma garrafa por companhia, rodeado de animais
abandonados como ele. Vivia de esmolas e de uns biscates que iam
aparecendo, mas estourava tudo em ninharias. Ficou-lhe o gosto pela bebida
e, se lhe sobrassem uns trocados, não resistia a comprar uma raspadinha ou
uma cautela para tentar a sorte. O António encheu-se de pena dele e
arranjou-lhe trabalho nas obras, a carregar tijolos e a apanhar o entulho,
mas o professor, que só devia ter mãos para livros e cadernos, não se
aguentou no serviço muito tempo.
Tirou umas moedas do bolso e separou-as, devagar, para ver se
chegavam, mas tudo junto mal dava para pagar o café. Ia longe o tempo em
que pedia o que lhe apetecesse, sem olhar aos trocos. A Isaura serviu-o com
o carinho do costume, acrescentando uma sanduíche de panado para lhe
forrar o estômago. Não recebeu o dinheiro, não o repreendeu, não o julgou.
Ele agradeceu-lhe com os olhos, que se abriram mais para acompanhar um
sorriso tímido, parecendo ter perdido até as palavras. Comeu e bebeu em
silêncio. Depois saiu, voltando a pôr as moedas no bolso, encavacado, a
pensar nos dias em que as pessoas o cumprimentavam cerimoniosamente.
A Salomé cruzou-se com ele à porta, mas vinha tão acelerada que mal o
viu. Avançou pela tasca a esbarrar nos clientes e nas sílabas, descarregando
uma frase telegráfica como se lhe faltasse o ar.
A Alice desapareceu.
A Isaura desligou a televisão, indiferente aos protestos dos que estavam
mais atentos à bola, até que o ruído foi esmorecendo com a estridência da
notícia, e o silêncio sobreveio, ensurdecedor.
Uma espécie de estrondo,
tão incomportável que algumas pessoas começaram a dizer coisas à toa
para não se desmancharem. Entreolharam-se, assustadas, questionaram-se,
hesitaram. A Salomé também duvidara quando a sogra lhe contara que a
Mariana andava de porta em porta à procura da filha, porque ela não estava
na escola nem em sítio nenhum – o meio era tão pequeno que nunca
supusera que uma infelicidade daquelas lhes pudesse cair em cima –,
julgara que era engano, uma brincadeira mórbida, porque se ouvia falar de
casos semelhantes na televisão e à distância pareciam quase ficcionados, a
um passo da novela da noite; mas quando aconteciam na casa ao lado, com
pessoas que se conheciam bem, tornavam-se tão reais que custava acreditar.
A proximidade redobra o impacto da tragédia e, perante o choque, era
talvez esse medo que se ia disseminando:
Podia ter acontecido a qualquer um deles,
filhos, sobrinhos, netos,
a caminho da escola, à porta de casa, no parque infantil. Naqueles sítios
familiares e seguros onde não se esperava que sucedesse.
Assim, de repente, sem ninguém dar conta.
A Isaura apoiou-se no balcão, as pernas tremiam-lhe, as ideias
baralhavam-se, logo ela, que não se deixava abalar por nada. A Salomé, que
também vira a Alice crescer quase a par dos filhos e a estimava como se
fosse família, esforçou-se por se conter, mas o corpo não lhe obedeceu e
desabou num choro convulsivo. Era sempre assim, tinha uma alegria
poderosa, via sempre o melhor nas situações e nas pessoas, mas se lhe
tocassem num nervo ficava arrasada. As pessoas trocavam comentários,
aturdidas, e davam sugestões para ajudar. O Presidente da Junta tirou o
telefone do bolso, afogueado, e contactou um amigo na Judiciária para o
pôr a par. A Isaura queria fechar a tasca para ir à procura da afilhada,
parecia-lhe uma estupidez ficar ali, sem fazer nada, mas a Salomé
convenceu-a de que era preferível manter-se alerta e avisar toda a gente. Se
a notícia se espalhasse depressa, não tardariam a encontrar a criança.
Apesar de tudo, restava-lhes a esperança de que fosse um equívoco,
compunham explicações absurdas que os iam sossegando, ninguém lhes
tirava da ideia que aquilo era só um susto e logo a Alice apareceria.
A turbulência aumentou rapidamente e agitou a vila, que parecia
inabalável na sua quietude provinciana. Quando a Salomé chegou à rua
onde morava, já se formara uma mancha de gente em redor. A Mariana
parecia uma estátua prestes a ruir, sentada no passeio; não se lhe viam
lágrimas nem sinais de histeria, apenas abatimento e uma lividez no rosto.
Ainda não estava em si, a realidade não podia ser tão absurda. Lembrou-se
novamente do sonho que tivera na noite anterior e estremeceu com a
sinistra coincidência.
Até onde vão os sonhos? Às vezes parece que se metem pela nossa vida
dentro.
As pessoas giravam em torno dela como um bando de pássaros agitados,
pressentindo a tempestade. Tentaram convencê-la a entrar em casa, para que
se pudesse refazer e tomar alguma coisa para os nervos, mas ela não saiu do
lugar. Aquela inércia era o que mais estranhavam. Uns buscavam
atenuantes, alegavam que era fruto do choque, um acontecimento daquela
natureza fazia qualquer um perder a razão e era natural que a rapariga
estivesse meio assarapantada. Mas outros valiam-se da ocasião para lhe
apontar falhas, criticar-lhe a frieza, buscavam pedras no bolso para lhas
atirar, não entendiam porque não metia pés ao caminho e revirava as ruas à
procura da filha, aos gritos, como se o desespero se medisse em decibéis; e,
embora não se atrevessem a atribuir-lhe culpas em voz alta, ficavam a
remoer na sua reação. A Josefa permaneceu à sombra do ajuntamento, para
que não a atolassem de perguntas e suposições, limitando-se a observar a
sobrinha de longe. Tinha um nó na garganta que a esganava e soltou um
gemido que se perdeu na confusão.
Por seu turno, a Salomé irrompeu da multidão e abraçou a Mariana,
desencantando palavras de encorajamento que desfaleceram no ar, porque a
sua voz se tornou quebradiça, desfazendo-se nas pausas. Não parecia a
mesma, perdera vivacidade, queria mostrar coragem mas as lágrimas não a
largavam. Por mais que tentasse amparar a amiga, aquela situação era
inimaginável para qualquer mãe. Ela própria pusera os filhos no colégio
julgando que assim arredava os perigos, passava-lhes conselhos e medos,
mantinha-os debaixo de olho como um falcão, garras afiadíssimas, longe
das ameaças que pareciam engrandecer na cidade. Se algum desconhecido
lhes desse conversa, disparavam logo alarmes, porque até a simpatia e a
bondade podem deformar-se em determinados contextos – como esquecer o
que nos ensinam em criança, os chavões que nos injetam? –, se ao menos o
instinto bastasse. Mas não podia controlar tudo a toda a hora; havia sempre
um risco, uma hipótese aterradora de alguma coisa correr mal. E como se
resiste ao desaparecimento de um filho? Como se sobrevive ao medo, à
insegurança, à dúvida? Só estando na pele da Mariana poderíamos chegar
perto de saber.
A vizinhança fartou-se de matutar e a conclusão foi sempre a mesma:
nenhum deles vira passar a Alice de manhã, ou estavam tão habituados a
vê-la que não prestaram atenção. Mas uma criança não desaparecia sem
razão: havia adolescentes que fugiam de casa ou eram ludibriados por gente
perversa, ocorrera até um caso do género no colégio onde a Salomé dava
aulas e foi motivo de conversa por muito tempo; mas a Alice jamais se
afastaria do único sítio que conhecia bem. Por mais que espantassem a
maldição do pensamento, começavam a suspeitar de um crime.
Havia decerto um culpado.
Um monstro.
Só que os monstros têm muitas caras e nem sempre os conseguimos
identificar.
Cruzam-se connosco na rua, no trabalho, moram na casa ao lado, parecem
pessoas iguais às outras.
Mas, ainda que fosse impossível tranquilizar a Mariana, a Salomé
teimava em dizer-lhe
Vais ver que daqui a nada ela aparece.
E mais gente, à volta, ia repetindo, descompassada, sem contudo se
convencer,
Não há de ser nada.
Depois de receber a participação, e de uns guardas se inteirarem da
ocorrência com a Josefa, a Judiciária acorreu ao local mais depressa do que
se esperava. Um desaparecimento pode ter muitas causas, mas, tratando-se
de uma criança, o risco tem sempre um peso elevado. Até ver, ninguém
excluía a hipótese de rapto e a Alice podia correr perigo de vida; os casos
de crime são raros, mas acontecem. Os inspetores começaram por recolher
informação que os ajudasse a compor o cenário e apurar os factos: relatos,
detalhes, vestígios. No começo, a Mariana estava tão desconcertada que de
pouca ajuda serviu. Descreveu as roupas que a filha vestia, a cor dos
sapatos, a mochila azul às flores que o tio-avô lhe oferecera no começo do
ano, um sinal de nascença que a Alice tinha no pescoço, e teve de socorrer-
se da Salomé para encontrar uma fotografia atual e o que mais lhe pediram.
A Alice não tinha telemóvel nem usava as redes sociais, o que,
infelizmente, reduzia as hipóteses de a localizarem através das tecnologias.
O sistema de videovigilância da escola funcionava aos gaguejos desde o
começo do ano e agora já nem dava sinal de vida, e, nas imediações, só
havia uma pequena retrosaria abandonada onde nunca se vira uma câmara.
Os inspetores percorreram o trajeto entre a casa e a escola, fazendo uma
reconstituição exaustiva do percurso, varrendo meticulosamente ruas e
cantos, atentos a qualquer indício, ameaças no terreno – não fosse haver por
ali um poço, alguma ladeira perigosa onde a criança tivesse caído –,
recolhendo pistas, andando de porta em porta, questionando vizinhos e
amigos, anotando todos os dados para que não lhes escapasse nada.
Qualquer sinal da passagem da Alice por aquele local poderia ser vital. Mas
ela parecia ter-se evaporado.
A notícia propagou-se depressa; os curiosos foram tecendo o enredo,
como se assistissem a um filme, e os mais incrédulos juntaram-se para
apurar os factos. Assim que se refez, a Salomé reuniu as pessoas para
repartir tarefas e só descansou quando o ajuntamento se foi desmembrando
pelas ruas. Cada um foi passando palavra, formaram-se grupos de busca,
circularam mensagens e folhetos; em pouco tempo a vila inteira mobilizou-
se à procura da Alice. E a pessoa que a levara podia muito bem ter-se ali
imiscuído, que ninguém desconfiaria.
A Isaura recolheu-se atrás do balcão, pegando no telefone para avisar o
resto das pessoas e, apesar de afugentar as lágrimas com mão de ferro, não
conseguia esconder a aflição. Ligou à Mariana para a confortar e lhe
oferecer guarida, mas engasgou-se a meio, e por instantes ficaram ambas
agarradas ao telefone sem dizer absolutamente nada. O Zé apareceu mal
soube da notícia. Queria ser prestável, falar com a polícia, percorrer as ruas
no encalço da miúda, mas não teve coragem de deixar a Isaura sozinha. E,
embora estivessem longe de pensar em si mesmos, é natural que as
circunstâncias os tenham aproximado.
O Rui, marido da Salomé, ainda estava no escritório quando recebeu o
telefonema apavorado da mulher e pôs-se logo a caminho. Ele e o António
encabeçaram o primeiro grupo de busca, e foi chegando gente de todo o
lado disposta a participar. A polícia encetou as diligências da investigação,
mas, quanto mais pessoas estivessem no terreno, mais hipóteses haveria de
se encontrar a Alice. A Isaura animou-se com a iniciativa dos amigos,
distribuindo sandes e garrafas de água pelos voluntários. O padre apelou à
solidariedade, concentrando as orações na menina e na família, enquanto as
velhas profetizavam desgraças e esvoaçavam pela igreja nas suas vestes
lúgubres. Todos ajudavam de alguma forma, mas a Josefa desapareceu de
vista, deixando a Mariana entregue à multidão.
Um dos grupos estava prestes a sair quando uma das velhas entrou tasca
dentro, esbaforida. Assim que se recompôs, certificou-se de que era o
centro das atenções e anunciou, exultante:
– Viram uma carrinha branca!
Uma moradora deu o alerta assim que o burburinho lhe comichou nos
ouvidos, alegando ter visto a Alice numa carrinha branca logo pela manhã,
do género da Mercedes velhinha que o António ainda levava para as obras.
Não se conhecia matrícula, marca, sequer uma descrição do condutor; a
pista servia de pouco, e a testemunha era uma idosa, fraca de vista, a quem
já ia fugindo a razão. A imagem que guardava era ténue, cheia de lacunas e
pequenas contradições, e a determinada altura as incertezas sobrepuseram-
se. Atendendo à imprecisão do relato, tanto podia ser a Alice como outra
criança qualquer. Mas a dúvida instalou-se na mente de quem ouviu o
boato.
E, face à consternação, até um indício tão frágil os poderia encorajar,
porque as pessoas se agarram a fios de esperança quando não têm mais
nada, mas ninguém se mostrou minimamente empolgado.
Olharam uns para os outros, perplexos.
Rompendo o breve silêncio que se formara, a Isaura encaminhou-se para
a porta, de mãos nas ancas, e extravasou, muito irritada:
– Essa agora!
A velha aproximou-se da entrada, duvidosa, olhando à sua volta.
E só então reparou na fila de carrinhas brancas estacionadas ao longo da
rua.
9
O Artur e a Elisa não eram dali. Tinham vindo de Lisboa com vontade de
mudar de vida e criar a filha num sítio calmo de onde pudessem ver o mar.
Pelo menos, era o que costumavam dizer quando alguém lhes perguntava o
que os levara a trocar a capital pela pasmaceira da vila.
Mas não era bem assim.
A Elisa decidira criar o seu próprio negócio muito antes de rumarem a
norte e pensara primeiro num salão de chá: imaginava aromas exóticos,
louças bonitas, as prateleiras providas de pães artesanais e doçarias
delicadas. Mas, assim que se mudaram para a vila, desanimou: a
concorrência era apertada, com a tasca da Isaura a reunir mais fiéis do que a
igreja, sem falar nos bares de praia, apinhados de turistas e adolescentes
frenéticos; depressa se convenceu de que aquela gente não era muito dada a
infusões ou a subtilezas. Por isso, pareceu-lhe mais sensato refazer os
planos e apostar noutra atividade.
A loja de guloseimas foi sugestão do marido, pois não havia nenhum
estabelecimento do género nas redondezas e não faltava quem se perdesse
por doces. Ela não se entusiasmou muito; no início parecia-lhe entediante,
mas foi dando voltas ao conceito até chegar aonde queria e a ideia começou
a agradar-lhe. Um ano mais tarde, estava feliz com a decisão que tomara: a
loja era um sucesso. Os produtos eram bons e diversificados, bastava
decorar a montra a preceito para os miúdos fazerem fila, nem os adultos
resistiam, chegava a vir gente de fora para provar as especialidades. A
graciosidade da Elisa conquistou até os corações mais empedernidos.
O Artur não conhecia outro ofício além da informática, desde que
começara a trabalhar numa loja de reparação de computadores quando
ainda andava a tirar o curso profissional, mas não teve outro remédio senão
aceitar o primeiro emprego que lhe apareceu, num stand de automóveis das
redondezas. Claro que preferia limitar-se aos computadores, que manejava
com destreza; de vez em quando resolvia berbicachos que mais ninguém
deslindava no escritório e já se teria aventurado a pedir uma transferência se
o chefe não estivesse sempre a lembrá-lo de que o mais importante eram as
vendas. Por isso, aguentava-se no serviço, esforçava-se por atingir os
objetivos, aceitava os reparos e aturava os gracejos dos colegas, que não lhe
viam grande habilidade para o negócio. Ia fazendo alguns extras que lhe
pediam para se entreter e ganhar uns trocados. Não desistia com facilidade e
era capaz de se virar do avesso para chegar aonde queria.
Apesar de terem vindo de uma grande cidade, onde viviam entre correrias
e paredes de betão, o Artur e a Elisa adaptaram-se facilmente ao novo
ambiente e, ao fim de poucos meses, sentiam-se em casa. Iam à missa,
comungavam, participavam nos eventos locais, organizavam quermesses no
largo da igreja, angariavam fundos, contribuíam com doçarias para as
vendas dos escuteiros; faziam o mesmo que os outros e já ninguém dizia
que eram de fora. Acostumaram-se de tal forma que nem se queixavam do
frio que se entranhava no corpo no início do ano, nem da humidade que ia
corroendo o gradeamento e desmaiando a pintura das casas, e até a
pronúncia deles ganhou uma harmonia nortenha.
A Elisa estava a fechar a caixa quando se apercebeu do burburinho que
sacudia as ruas. Aproximou-se da entrada, apreensiva, e, antes que pudesse
confirmar o motivo da agitação, a Salomé apareceu. A Clara ocupava uma
mesinha num canto da loja onde se juntava um emaranhado de crianças
para a apaparicar, mas desviou a atenção dos brinquedos assim que viu a
mãe dos seus amiguinhos entrar de rompante. A Salomé encostou-se ao
balcão e segredou a notícia à Elisa, para não alarmar os miúdos em redor,
tão transtornada que as suas mãos não paravam de tremer.
– A Alice? Tens a certeza? Mas como? – perguntou-lhe a Elisa,
atordoada, ainda que o tivesse pressentido muito antes de a confusão se
instalar, no preciso momento em que a Mariana lhe aparecera à procura da
filha, nessa tarde, com uma expressão de desnorte no rosto.
A Salomé foi-lhe contando o que sabia, ainda mais acelerada do
nervosismo, e estava tão focada nas buscas que saiu à pressa, depois de lhe
entregar um molho de folhetos que andava a distribuir. A Elisa pegou num,
afixou-o cuidadosamente na montra e deixou os restantes em cima do
balcão. Olhou para a fotografia da Alice estampada no papel, sentiu o
coração apertado, mas em quem pensou logo foi na própria filha. Podia ser
ela naquela fotografia. A Clara desconhecia os perigos, sorria a toda a
gente, se lhe oferecessem colo aceitava num piscar de olhos e, como dava
ares de estrangeira, não passava despercebida em lado nenhum. A Elisa
ficou tão aflita com a possibilidade de a perder que lhe pegou e a manteve
no colo por muito tempo.
A Alice costumava aparecer para brincar com a bebé ou ajudar a Elisa na
distribuição dos doces. Era encantadora. Moravam quase porta com porta,
viam-se todos os dias, e o seu desaparecimento era aterrador. Toda a gente
apontava as fragilidades e os medos das grandes cidades quando algo corria
mal, mas, afinal, as desgraças não escolhiam lugar. E, subitamente, a Elisa
deu por si a matutar no que os fizera deixar Lisboa de forma tão
intempestiva e fixarem-se num vilarejo remoto de que pouco ouvira falar.
O Artur não voltara a tocar nesse assunto desde que se tinham instalado
na vila, havia quase um ano. Era como se tivesse apagado o passado, fizera-
o tantas vezes ao longo da vida que, quando a Elisa o conhecera, ele fazia
lembrar um passageiro sem bagagem. E talvez exista um limite para o que
as pessoas podem trazer com elas. O Artur perdera o pai em pequeno, não
tinha o que o ligasse às irmãs, estilhaços de uma família desfeita, e nunca
falava da mãe. Aliás, não falava nem de si mesmo. A mulher tentara puxar
o assunto algumas vezes – aquela faceta reservada metia-lhe impressão –,
mas, depois de obter sempre a mesma explicação vaga, acabou por desistir.
Vistas de perto, todas as famílias tinham as suas cicatrizes, e o Artur lá teria
os seus motivos para agir assim. Ela também não falava da morte do pai,
que fora completamente inesperada e ainda lhe doía tanto que preferia
guardá-la só para si. Cada um arranja as suas formas de se proteger.
Tinham sido felizes, em Lisboa.
A Elisa não era de medos. Estava habituada a liderar, avaliava cada
escolha, olhava em frente e julgava que via o futuro, claramente; um bom
emprego, marido, três filhos, negócio próprio ao fim de uns anos, uma casa
à beira-mar para as férias, porque acreditava que a felicidade era sobretudo
trabalho e um pouco de sorte. Mas na vida há poucas linhas retas. Com os
apertos da crise, ela seguira na enxurrada de um despedimento coletivo, e
nem o curso de gestão a impedira de se ver enfiada numa caixa de
supermercado, a passar códigos de barras em horários volúveis, a troco de
um ordenado quase ofensivo. Ainda assim, não perdeu tempo a lamentar-se;
encheu-se de coragem e começou a definir um projeto. O mais importante
era ter quem amava ao seu lado e, quanto a isso, não se podia queixar. O
Artur fazia-a feliz, além da mãe era o seu maior apoio, e a Elisa apostava
que ele também daria um bom pai, pois bem via a forma como se derretia
com crianças antes de sequer pensarem em ter filhos. E não se enganou.
Ainda se lembrava do deslumbramento do marido quando voltaram da
maternidade e entraram no apartamento, em Lisboa, com a bebé
aconchegada na cadeirinha. No início quase tinha medo de lhe tocar, os
gestos eram lentos e atrapalhados, mudar uma fralda tornava-se um quebra-
cabeças, mas aos poucos foi-lhe ganhando o jeito. Estava sempre presente,
mesmo nas noites mais desgastantes, em que a Elisa cabeceava de sono
junto ao berço, e até a ajudava nas tarefas quando voltava do trabalho. A
vizinha do lado tinha uma filha pequena e a miúda apegara-se tanto a eles
que os visitava quase todos os dias para brincar com a Clara. O Artur nunca
se aborreceu, de vez em quando até as levava a passear para dar descanso à
mulher, mas a Elisa andava tão exausta e irritadiça dos trambolhões das
hormonas que por vezes se sentia incomodada. Chegou a desconfiar do à-
vontade entre o marido e a vizinha, que era divorciada e apreciava a
atenção, tanta conversa para quê?, intimidade a mais, mas depois lá se
convenceu de que ele estava apenas a ser solidário. Ouvira dizer que o
nascimento de um filho por vezes desafiava a relação do casal, que os
companheiros se podiam sentir rejeitados e diminuídos, mas o marido
manifestava um encantamento tão profundo pela Clara que quase lhe fazia
ciúmes.
A vida corria-lhes de feição.
Mas às vezes basta uma ponta solta.
A Elisa lembrava-se bem do dia em que haviam decidido mudar-se.
Vinha especialmente aborrecida do turno no supermercado, porque
apanhara uns miúdos a roubar e tivera de chamar o segurança, o que
provocara logo rebuliço. Os miúdos não passavam fome, alguns até
andavam com roupas de marca, roubavam por gozo, o que a deixara ainda
mais irritada. A Clara estava acomodada na espreguiçadeira e ela tinha
começado a tratar do jantar quando ouviu o marido à porta, mas passaram-
se alguns minutos até ele aparecer. Quando o Artur chegou à cozinha, atirou
o casaco para uma cadeira e fez um carinho desinteressado à filha, de
passagem. Depois aproximou-se da Elisa com um ar preocupado e deu-lhe
um beijo, esfregando lentamente a nuca.
– Perdi o emprego – contou-lhe de repente, porque algumas notícias não
têm volta a dar.
– O quê? – perguntou-lhe a mulher, incrédula, pondo o tacho de lado.
– Parece que as coisas andam mal e a administração vai dispensar gente
ainda este mês. Calhou-me na rifa.
O Artur não entrou em pormenores nem esticou a conversa, começara a
trabalhar muito jovem para se sustentar e era demasiado orgulhoso para dar
parte de fraco. A Elisa tentou confortá-lo, garantir-lhe que não tardariam a
chover ofertas ainda melhores, mas havia nele uma certa inquietação.
E de seguida percebeu porquê.
– Vamos embora daqui? Recomeçamos noutro lugar?
Ou teria sido antes uma decisão,
vamos embora daqui, recomeçamos noutro lugar,
porque a Elisa não se lembrava de ele lhe ter feito a pergunta. Mas depois
percebeu que era sobretudo nela que o marido pensava.
– Aqui não passamos da cepa torta. Estou farto de te ver desperdiçada
numa caixa de supermercado, tanto potencial deitado fora. Temos uns
dinheiros guardados, arranjamos um bom sítio para montares o teu negócio
e não pensamos mais no assunto.
Foi tudo tão inesperado que ela se retraiu, não se imaginava a morar de
repente noutro sítio, tinha ali as raízes, os amigos, e custava-lhe deixar a
mãe desamparada. Mas o entusiasmo dele foi contagiante. A Elisa não
recusava desafios e talvez estivesse na altura de arriscar. Sugeriu-lhe logo o
Alentejo, porque os padrinhos tinham uma herdade de turismo rural em
Monsaraz e ajudá-los-iam de bom grado a instalarem-se na região; mas ele
tinha os planos bem alinhavados.
Lembrou-lhe da casa que herdara de uma tia no Norte, numa terrinha
simpática junto à costa; o legado incluía um pequeno terreno, não muito
longe da moradia, que o caseiro da quinta cultivava para não ficar ao
abandono, e uma arrecadação agrícola cheia de quinquilharia. A tia não
tinha filhos e, com a morte do irmão, só lhe haviam restado os sobrinhos e a
cunhada. Fora a única pessoa que se preocupara realmente com o Artur,
talvez porque o visse sempre à margem da família depois de lhe ter faltado
o pai. O Artur tinha poucas memórias da vila em pequeno, mas eram todas
boas; lembrava-se vagamente de ajudar a tia a apanhar couves da terra e
depois sentir o cheiro da sopa no fogão, e tiritar de frio quando ia ao mar,
até ficar roxo e encarquilhado, sem contudo lhe apetecer sair da água. Nessa
altura não havia parques infantis, nem acesso às tecnologias, e às vezes
juntava-se com outros miúdos nas traseiras da igreja para jogar à bola ou
brincar ao que fosse; bastava puxar pela imaginação. Se pudesse, teria
ficado com a tia para sempre, porque voltar para casa era como dormir ao
relento.
Já não ia àquela terra havia muitos anos, nunca lhe parecia a altura certa
para lá voltar, mas as pessoas costumavam ser acolhedoras. De vez em
quando alugava a casa por uma temporada, para lhe dar algum préstimo e
pagar os impostos, mas a Elisa achava que era uma pena não se servirem
dela.
– Não estás sempre a dizer que devíamos ir lá? – perguntou-lhe o Artur,
encorajando-a.
A Elisa encolheu os ombros, relutante. Uma coisa era passar férias, mas ir
morar para tão longe era completamente diferente. Porém, o marido parecia
desejoso por regressar à terra e, pelo menos, poupariam dinheiro na renda.
Pesando os factos, acabou por concordar.
– A tua tia devia gostar muito de ti – deduziu a Elisa afagando o rosto do
marido. – As tuas irmãs não ficaram chateadas por só herdarem bagatelas?
O Artur encolheu os ombros, constrangido, pois também estimava muito
a tia.
Resolveram-se naquela mesma noite. O Artur abraçou-a e depois voltou-
se para a filha com uma expressão deliciada, ameninando a voz para lhe
perguntar:
– Vamos fazer uma viagem, meu amor?
A bebé estava longe de perceber a conversa, ainda mal falava, mas
correspondeu ao carinho do pai com um esgar de alegria. O Artur tirou-a da
espreguiçadeira e os dois afastaram-se num palrar animado, deixando a
Elisa sozinha.
Ela respirou fundo, despertando para a vida nova, mas tinha a impressão
de estar a dar um passo em falso. Arrumou os brinquedos da filha e, ao
pendurar o casaco do marido, reparou num colar de contas coloridas que
espreitava do bolso. Enrolou-o lentamente nos dedos, enternecida. Homens,
condescendeu. O Artur enchia a filha de presentes, por mais que o
advertisse de que alguns eram desajustados à idade; às vezes nem chegava a
usá-los e ficavam para um canto. A Elisa suspirou e foi guardar o colar
numa gaveta da cómoda da Clara.
Andava tão embrenhada na mudança que acabou por se esquecer das
pessoas. A mãe e os amigos ressentiram-se da falta de atenção; a menina do
lado foi deixando de aparecer; e até as despedidas foram feitas à pressa.
Estavam a correr em direção ao futuro, dizia para si mesma enquanto
metia as malas no carro, mas a sensação que teve, quando se vieram
embora, era de que estavam a deixar uma parte das suas vidas para trás.
10
A Glória e a Cremilde conheciam-se desde novas e envelheciam juntas
para enxotar a solidão.
A casa da Glória era velha e modesta, tal como ela, de um verde berrante
que o tempo atenuou. Fora construída junto a uma vacaria, quando o
povoado era sobretudo de lavradores, e tinha um terreno enorme em redor,
mas ficava tão perto da estrada que o chão trepidava quando passava um
camião. O portão de ferro amarelento chocalhava com a aragem,
desconchavado, o que não fazia a menor diferença, já que a Glória
raramente o fechava. Contavam-se umas dezenas de passadas até às casas
mais próximas, porque os constrangimentos do lugar não convidavam gente
nova e os lotes junto ao mar eram mais apetecíveis. Ela poderia mudar-se
para um dos apartamentos novos no centro, os filhos estavam sempre a
martelar no assunto quando vinham de visita e se incomodavam com o mau
cheiro e a falta de espaço, mas as memórias agarravam-na àquele pedaço de
terra.
No final do dia, estavam as duas na sala, sentadas lado a lado, piando
trivialidades para se distraírem. A Glória tinha uns olhos vivaços que
enganavam a velhice e, mesmo quando não estava na mercearia, andava
sempre de volta de algum afazer. Pousara um saco de juta nas pernas, de
onde corria um novelo de linha branca, enquanto a agulha dançava
delicadamente entre os pontos. A Cremilde limitava-se a observá-la, de
mãos entrelaçadas no colo. Sempre fora habilidosa nas tarefas do lar,
costurava e tricotava na perfeição, mas desde que a doença se intrometera
perdera o jeito, pegava nas agulhas e os dedos trocavam-lhe as voltas,
descoordenados. Estava com o pensamento nos naperons que fazia para
enfeitar os móveis, e de repente um atalho, um resquício, algo de que se
começava a lembrar: os passos dele na entrada, a credência a cair e a
arrastar o paninho rendilhado e os bibelôs de porcelana chinesa que se
desfizeram no chão. Ele cada vez mais próximo, sentia-lhe o cheiro, uma
baforada no pescoço, e virando-se para ela,
puta,
tantas vezes puta.
A Cremilde fez um esforço para se levantar, mas a chiadeira que lhe ia no
peito aumentou com aquela agitação e manteve-a sentada. Revirou os
bolsos à procura do inalador e aspirou duas descargas rápidas. A Glória
perguntou-lhe se estava bem, interrompendo o floreado do croché, e não
estava bem, não, disse-lhe a Cremilde em surdina, ou não terá dito nada,
apenas o pensamento a falar alto, mas de repente um mal-estar, uma
tremura nas pernas, um medo incompreensível. Quando a respiração
finalmente estabilizou, a lembrança que ainda há pouco se insinuava na
mente dissolveu-se.
As mulheres foram sobressaltadas por duas pancadas fortes no batente. A
Glória pousou as agulhas para abrir a porta e não voltou a pegar-lhes. A
Salomé deu-lhes a notícia com todo o cuidado para não as assustar –
naquela idade qualquer coisa lhes abalava o coração –, mas, ao sair, quase
se sentiu culpada por lá ter ido, tal foi a aflição em que as deixou. A Glória
e a Cremilde sabiam o que representava a perda, tinham-na sentido de
muitas maneiras ao longo da vida e compreendiam-na do mesmo modo
resignado com que aceitavam tudo o que não podiam mudar. Estavam
convencidas de que o mundo se corrompera pela maldade, crença que
foram interiorizando com as vivências e as notícias chocantes dos
telejornais. Apesar disso, o desaparecimento da Alice destroçou-as de uma
forma atroz e inesperada. Nenhuma delas estava preparada para que um
acontecimento daquele calibre tivesse lugar na pequena terra onde se
tinham criado, quase à porta de casa, a desmanchar o sossego dos seus
lares. E o abalo era ainda maior tratando-se de uma criança que tinham
visto nascer e consideravam família.
A Glória afastou-se e pôs o fervedor ao lume para fazer um chá, o que
não passava de um pretexto para ficar sozinha. Parecia que estava a ver a
Alice à porta da mercearia, por entre a cortina de fitas, quando a chamava
às escondidas para lhe meter rebuçados nos bolsos, tal como já fizera com a
Mariana. Sentou-se numa cadeira e chorou num recanto da cozinha, sem
fazer barulho, pois a Cremilde ainda teria outra crise de asma se a visse tão
desgostosa. Era uma boa amiga, tratava da Cremilde desde que a doença se
anunciara e desdobrava-se em cuidados para que ela não se apercebesse das
falhas de memória, que ia tapando como se fossem pequenos buracos, com
histórias, pormenores e recordações agradáveis.
Ninguém sabe ao certo o que passa pela cabeça de quem se vai
desligando do mundo. Talvez a Cremilde não distinguisse a Alice das outras
crianças se naquela altura se cruzasse com ela, a memória ia e vinha sem
dar explicações; mas, quando soube do que acontecera, despencou numa
tristeza profunda. Levantou-se e foi buscar a caixa de música ao quarto. A
Mariana descobrira-a numa feira de velharias e a Alice oferecera-lha nos
anos, desconhecendo que a música ajudava a desenlaçar a memória.
Mostrou-lhe como funcionava, teve de o fazer inúmeras vezes porque ela
nem sempre se ajeitava com a manobra e as duas eram capazes de passar
horas em torno do brinquedo.
A Cremilde levantou a tampa, sem escutar qualquer som. Fechou-a,
desiludida, e voltou a abri-la passados segundos, mas nada aconteceu.
Agitou-a bruscamente, com impaciência, e algo chocalhou no interior.
Tateou a patilha por detrás com os dedos, dançarinos trôpegos, e lá
conseguiu pô-la a trabalhar. A melodia encheu a sala de saudades, enquanto
uma bailarina minúscula rodopiava devagar. A Cremilde ficou tão
comovida que lhe vieram as lágrimas aos olhos e, sempre que soava o
último acorde, voltava ao princípio.
Os esquecimentos da Cremilde começaram de forma subtil, como quem
diz a mesma coisa duas vezes e de repente se baralha a meio de uma
conversa. No início, ninguém lhes atribuiu importância, acharam que era
mais um estorvo da idade e condescenderam. Mas a situação foi-se
agravando; as lembranças do passado intrometiam-se no presente e o
quotidiano foi ficando cada vez mais pálido na memória. Em pouco tempo
começou a errar nomes, datas, rotinas, e certo dia perdeu a noção de onde
estava. No hospital fizeram-lhe perguntas, consultas, e uma catrefada de
exames. O médico, cheio de paciência, pedia-lhe para identificar figuras e
reproduzir imagens, e ela ria-se da situação, porque não sabia desenhar
relógios e tudo aquilo lhe parecia uma brincadeira de crianças. Não
tardaram a perceber o que tinha, só que não havia muito a fazer.
A vizinhança era solidária e amparava as viúvas. A Isaura levava-lhes
caixas com comida pronta a aquecer; a Salomé, que era desembaraçada nos
cálculos e na papelada, ajudava-as com a contabilidade da mercearia e as
burocracias; o António tratava das reparações que a velhice da casa ia
exigindo; e a Josefa encarregava-se das tarefas domésticas mais árduas. A
Glória seguia as recomendações que lhe iam dando e fazia de tudo para
manter a Cremilde ocupada: comprava-lhe revistas e jogos para estimular o
cérebro, uma espécie de ginástica mental; pedia-lhe para ler em voz alta,
para ela não se desapegar da linguagem; desafiava-a a dar pequenas
caminhadas; e de vez em quando levava-a até à mercearia, para ela se
distrair com os clientes. Até mandou afixar um quadro na cozinha, onde
colocava recomendações simples, números de emergência e os nomes das
pessoas mais próximas, para ela pedir ajuda se precisasse.
Por enquanto, a Cremilde preservava boa parte das suas faculdades e era
relativamente autónoma. Na maioria dos dias gozava de alguma serenidade,
mas o humor virava repentinamente como uma montanha-russa; às vezes
tomava atitudes sem sentido e, quando se dava conta do que ia perdendo,
murchava de desgosto. Havia momentos em que desligava, como se tivesse
um interruptor, e era capaz de passar horas sentada no sofá sem tirar os
olhos do chão.
Quando a música chegou ao fim, desistiu de a pôr a tocar novamente e
ficou só a olhar para a caixa.
As lembranças iam e, às vezes, não voltavam.
Naquela manhã ela bem podia ter visto a Alice passar, que seria
considerada uma testemunha inútil,
uma ironia do destino.
Mas foi precisamente o que aconteceu.
11
Algumas pessoas são tempestades. Trazem consigo uma carga enorme e
acabam sempre por desabar.
A Josefa andou até deixar de ver gente, até os sapatos lhe esfolarem os
calcanhares e o mar ser apenas um risco estreito a apartar o céu. Quando
encontrou um ermo, sentou-se aos pés de um eucalipto e chorou durante
muito tempo. Cavara dentro de si um buraco fundo para onde ia atirando os
sentimentos, uns atrás dos outros, ainda vivos, até só lhe restar uma cova
cheia de esqueletos.
Embora não lidasse bem com os afetos havia alguns anos, gostava das
sobrinhas, especialmente da Alice, e a relação com a Mariana não fora
sempre fria e avinagrada; no início chegara a ser aquilo que ambas
idealizaram.
Mas os segredos meteram-se entre elas.
A Josefa percebeu que não iria ter filhos ao fim dos primeiros anos de
casamento e isso criou nela uma certa aspereza. A irmã com uma mão-cheia
de crianças paridas na miséria e ela sem nenhuma que trouxesse graça ao
lar; não lhe parecia justo. Depois do acidente, acolheu a sobrinha não só por
piedade ou dever, mas sobretudo para preencher o vazio que trazia, e sentiu-
se recompensada durante uns tempos. Porém, na altura em que já ninguém
o esperava, engravidou. No início custou-lhe acreditar, e só se convenceu de
que estava à espera de um filho quando a barriga se fez notar. A notícia foi
recebida pelo marido e pela sobrinha com surpresa e entusiasmo, e a
vizinhança tratou logo de compor o enxoval. A Josefa desejava muito
aquele filho e teve tanto medo de o perder que o guardou só para si.
Arranjava sempre desculpas para faltar às consultas e aos exames,
desconsiderando os conselhos que lhe davam, sem contar que alguma
complicação lhe roubasse o ânimo. Mas a felicidade durou pouco naquela
casa.
Estranhou a cara do médico assim que a criança nasceu, uma daquelas
expressões que não diziam nada, demasiado silêncio. Levaram-lhe o filho à
pressa, a pretexto de controlarem uma hemorragia, quando ela só queria vê-
lo, sentir-lhe o cheiro, contar-lhe os dedos. As enfermeiras recolhiam-se,
evitavam-na, traziam o termómetro e trocavam o soro de olhos baixos. E
depois o António, que nunca soubera fingir, a entrar na enfermaria como
um fantasma, transparente, deixando cair a voz no fundo de um poço. É um
menino, partilhou num sussurro comovido, e depois sentou-se na beira da
cama e deu-lhe a mão. A Josefa pensava muitas vezes naquele momento,
talvez o último em que se sentira verdadeiramente próxima do marido,
desejando sempre que o desfecho tivesse sido outro. Não lhe exigiu a
verdade, poupou-o da aflição, chamou a enfermeira e mandou que lhe
trouxessem o filho. E, antes de pegar nele, já sabia, intuiu-o logo, mas
precisava de o ver para ter a certeza. Os médicos falaram de uma doença
rara com um nome esquisito; não lhe deram muito tempo de vida. Ela ouviu
as explicações sem dizer nada, indiferente às manifestações de conforto, tão
inúteis em tudo, apenas ruído. Viu o marido chorar sem pudor à frente de
todos, agarrado a ela como uma criança ou um velho desesperançado, e
abominou a fraqueza dele. Olhou para o filho e sentiu-se atraiçoada. O que
faria com um bebé doente nos braços, contando os dias para a sua morte?
Oxalá ele nunca tivesse nascido, desejou, virando-lhe a cara. E, estendendo-
o como um embrulho indesejado na direção da enfermeira que os observava
melancolicamente junto à porta, gritou em desespero:
– Leve-o, leve-o já daqui! Não consigo olhar para ele. – E, já sem forças
para berrar, acrescentou: – Por favor…
A enfermeira aproximou-se num silêncio respeitoso, pronta a fazer-lhe a
vontade, mas o António, que nunca tinha nada a dizer, impediu-a num tom
firme:
– Deixe-o estar.
E, voltando-se para a mulher com aquela calma que desencantava até nos
momentos mais desastrosos, ponderou:
– Ninguém tem culpa do que aconteceu, foi uma infelicidade. Vá, pega
nele antes que te arrependas; é nosso filho.
A Josefa olhou para o marido, envergonhada, e depois acolheu o filho nos
braços outra vez. Jamais se desprenderia daquele instante. Contemplou o
bebé durante algum tempo, procurando o que sentir, fosse o que fosse, mas
parecia que a tinham esventrado – para onde teria ido o amor, a alegria, que
acontecera a tantos sonhos? –, revirava-se às cegas sem encontrar nada.
Nessa altura o filho começou a chorar, quase um gemido abafado pela
felicidade que ecoava dos outros quartos, e ela embalou-o lentamente junto
ao peito.
E, de repente, qualquer coisa.
Tão depressa veio como foi.
Naquele dia em que o filho nasceu, a Josefa perdeu algo que nunca mais
recuperou.
E a morte dele endureceu-a ainda mais.
Mas não foi só esse ressentimento que a afastou da Mariana.
Passados tantos anos, ali estava a Josefa de coração nas mãos por causa
da Alice. Sacudiu as lembranças, recompôs-se e, ainda meio estonteada do
pranto, apoiou-se na árvore para se levantar. Nessa altura, ouviu um galho
estalar e, receosa de ter exposto as fraquezas, avivou o tom e reclamou em
voz alta:
− Quem anda aí?
Mas só o vento cochichava por entre a folhagem dos eucaliptos.
− Alice? − chamou, hesitante.
A Josefa avançou pelo campo, desconfiada, e, ao fim de muito andar, foi
dar a um terreno abandonado, cheio de silvas densas, onde jazia um poço.
Caminhava precisamente em direção ao poço quando, de repente, o filho do
caseiro a surpreendeu por detrás da ramagem.
− Ai, que susto, rapaz! – protestou, levando a mão ao peito. – O que é que
andas aqui a fazer?
− Ando à procura da Alice – respondeu em voz baixa, encolhendo-se,
como se tivesse sido apanhado a fazer algo que não devia.
− Vai-te lá embora, mas é, que isto não é lugar para ti; ainda deixas o teu
pai aflito − enxotou-o sem rispidez. − E já temos preocupações que bastem.
O rapaz correu pelo campo aos atropelos e em pouco tempo desapareceu
da vista. A Josefa deu meia-volta, esquecida do poço, e foi-se embora.
Ninguém faria caso do que o filho do caseiro dissesse. Às vezes olhava para
ele e imaginava que o seu filho poderia ser assim, se tivesse sobrevivido.
Mesmo lerdo e esquisito aos olhos dos outros, tê-lo-ia nos braços sempre
que lhe apetecesse e, quem sabe, fossem todos mais felizes.
O pensamento voltou logo à Alice. Daria tudo para a abraçar outra vez.
*
O António debruçou-se sobre o tabliê e procurou a lanterna que
costumava trazer no porta-luvas da carrinha. Quando a encontrou, reparou
num travessão que se enfiara na dobra do assento e sentiu um aperto no
peito. Dirigiu-se à oficina de carpintaria, guardou o travessão numa caixa de
parafusos vazia e pô-la no fundo de uma gaveta, onde também acomodara
um embrulho tosco. Deteve-se um instante a olhar para o pacote, mas não
chegou a abri-lo. Muniu-se de agasalhos para trilhar terreno, meteu o
canivete ao bolso e então saiu.
Liderava as buscas com tanto zelo que não antecipou a exaustão e,
quando se apercebeu, lá estava o corpo a dar sinais. Sentou-se no passeio
para recuperar o fôlego e disfarçou o incómodo enxotando os companheiros
com um aceno obstinado, para que prosseguissem sem ele. A paragem
durou poucos minutos, pois nem que se estatelasse de cansaço deixaria o
trabalho por fazer.
O António era bom.
Mas havia coisas que preferia esquecer.
Levava a vida com serenidade e não se arreliava com nada. Tirando o
vício da bebida, que o empurrava para a tasca a qualquer hora, ninguém lhe
conhecia falhas de monta. E nem mesmo quando se embriagava causava
zaragatas ou fazia cenas. Talvez porque estivesse tão habituado ao álcool
que já não lhe sentisse o efeito, ou porque simplesmente não fosse de se
incomodar. Tivera uma educação católica, mas raramente o viam na igreja.
Era trabalhador, mas não se agarrava ao dinheiro, deixava a mulher gerir as
despesas, limitando-se a ficar com uns trocados para gastar em vinho e
miudezas. Criara a sobrinha com amor, dera-lhe o que tinha de melhor, e
aceitara-lhe as falhas, porque não havia quem acertasse tudo à primeira.
Mas nunca se esqueceu do filho que perdeu; e, se houvesse no António
terreno fértil para mágoas ou rancores, esta morte estaria lá semeada.
Amava profundamente a mulher e não fez caso quando ouviu bichanar
por aí que ela o traía. Começou por ser uma insinuação maldosa: por que
outro motivo a Josefa se demoraria tanto em casa do padre, um homem
composto e ainda no vigor da idade – tão simpático e palavroso que até as
velhas se inflamavam na presença dele –, os dois sozinhos horas a fio? E,
de tanto o massacrarem, aquilo foi criando uma pústula. Mas nem quando
estava com os copos, a ponto de baralhar os pensamentos, acreditava
naquela infâmia. Se levasse a sério as ofensas, já teria cometido uma
loucura e, por vezes, ficava a remoer no assunto. Podia chegar a casa e
confrontar a mulher, armar um escândalo e pedir satisfações ao padre. Podia
até ir mais longe. Um dia, em que estava tão bêbado que o diabo lhe trocou
as voltas, a ideia surgiu-lhe como se fosse uma visão. Imaginou que pegava
na caçadeira, espetava um tiro nos dois e ficava o caso arrumado. Deixava
os corpos estendidos no passeio, ou, ainda melhor, no altar da igreja, para
toda a gente apreciar o espetáculo e ter pretexto para dar à língua durante
uns tempos. Logo a seguir riu-se do que congeminara, mero delírio
inofensivo, não era de perder o controlo com facilidade. Talvez por isso
mesmo o estimassem. E, como tal, fazia que não ouvia, era hábil a
desempenhar o papel de tolo, pedia mais um copo, e outro, até que as
pessoas finalmente se calavam.
O António não era de cismas. Havia de morrer por causa do álcool,
guardava essa certeza consigo, e aceitava a condição com a mesma
passividade com que encarava tudo na vida. Sendo um transmontano rijo,
criado na severidade do campo, nunca fora de se acautelar com a morte. De
nada servia alimentar angústias, ainda que, muito de vez em quando, se
lembrasse da mulher com o padre e os imaginasse enrolados nos lençóis, ou
na mesa da cozinha, ou nas traseiras do quintal, e em tantas circunstâncias
que lhe vinham tentar o espírito. Pensava nisso de muitas maneiras, até se
fartar e vomitar a ideia.
Apesar dos devaneios que o importunavam, só houve uma vez em que
ponderou seriamente falar com a mulher, anos antes. Nesse dia, arrumou a
trouxa e abandonou o serviço antes do fim da manhã. Não parou sequer
para beber, pois queria ter a mente desimpedida e socorrer-se das palavras
certas.
Foi o caminho todo a considerar a abordagem.
As mãos tremiam-lhe, escondeu-as nos bolsos para disfarçar o
nervosismo; e o coração galopava, desenfreado. Quando entrou na cozinha,
a calda do arroz borbulhava lentamente no tacho, e a Josefa seguia em torno
dos preparativos para o almoço. Deu-lhe um beijo e abriu a porta das
traseiras para deixar entrar o ar que parecia sumir-se. Viu o gato do vizinho
em cima dos vasos, mas não teve vontade de o enxotar. Sentou-se à mesa e
demorou o olhar na mulher, enquanto esfarelava um naco de pão entre os
dedos para acalmar os nervos. Ensaiou mentalmente a pergunta de várias
formas, mas nenhuma lhe pareceu apropriada, e resolveu avançar com a
primeira que lhe ocorreu:
É verdade que andas metida com o padre?
Assim, de repente, como um lampejo do momento. Apanhava-a
desprevenida e tirava as dúvidas de uma vez por todas.
Mas acobardou-se. As palavras adormeceram-lhe na boca, enquanto a
Josefa enchia uma caneca de arroz e a despejava para o tacho, sem imaginar
que aquele momento podia mudar para sempre as suas vidas.
O António sabia que, se tocasse no assunto, a verdade nunca mais o
deixaria viver sossegado.
Crescera sem fartura, sempre dera valor ao que alcançara e nunca fora de
exigir mais do que aquilo que julgava merecer. A mulher tinha os seus
defeitos, mas era resiliente, dedicada, e nunca lhe faltara com afeto nem
com nada que fosse importante. Sequer quando lhes morreu o filho, e aí
podia ter ido cada um para seu lado, porque alguns males erguem paredes
entre as pessoas. Acompanhou-o nas situações mais ingratas, nunca o
desamparou, nem quando ele ficou desempregado, e podia tê-lo deixado,
porque nessa altura ele perdeu o tino e entregou-se à bebida.
Imaginou o que seria a sua vida sem ela, vazia e desperdiçada, e sentiu
um nó na garganta.
O António podia viver de dúvidas e reticências.
Tolerava insinuações, cochichos e gracejos.
Só não concebia a hipótese de ficar sozinho.
Como seguiram por caminhos diferentes nessa noite, tal como em vários
momentos das suas vidas, ele e a Josefa não se chegaram a cruzar.
12
Quando a Elisa saiu da loja, a notícia eclodia por todo o lado. Primeiro na
lavandaria; a empregada era muito faladora e aproveitou logo para fazer
conversa. Depois no talho, onde os clientes, ainda incrédulos,
acompanhavam o relato vertiginoso do Coxo, manifestando consternação
por entre suspiros e desabafos, enquanto o empregado ia despedaçando um
borrego sem se pronunciar. O pequeno ecrã que espreitava da parede estava
sempre ligado num canal sensacionalista, que ia reciclando o mesmo tipo de
informação espalhafatosa dia após dia, e as pessoas lá iam deitando o olho
aos destaques, não fosse surgir algum alerta de última hora. Ao chegar a vez
da Elisa, o Coxo atendeu-a, desfazendo-se em salamaleques que ela
detestava.
– Tem aí uma menina que é uma riqueza, está cada vez mais linda –
gabava o talhante, piscando o olho à criança.
A Clara, que sempre se dera com toda a gente e esbanjava sorrisos por
onde andasse, estranhamente retraiu-se, refugiando-se na saia da mãe. A
Elisa desculpou-a com a falta da sesta, para não parecer indelicada, mas, na
verdade, sempre achara aquele homem um pouco excêntrico. Enquanto
aviava o pedido, o Coxo foi dando palpites sobre o que teria acontecido à
Alice. De vez em quando acenava à Clara, que o espreitava por detrás das
pernas da mãe, hesitante, e o empregado, que assistia à cena calado, deixou
escapar um sorriso. Aquela situação só deixou a Elisa ainda mais
desconfortável e desejosa de sair dali.
Ao voltar para casa, dois inspetores abordaram-na com perguntas, mas ela
não tinha muito a dizer, pois não vira a Alice sair, nem se apercebera de
nada estranho durante a manhã. Depois de pôr as compras no sítio,
telefonou à Salomé para saber novidades, mas, até ao momento, não havia
pistas convincentes.
Estava a preparar o banho da filha quando a lâmpada no teto se fundiu
com um estalido, deixando-a às escuras.
− Só me faltava esta – suspirou, chateada; as avarias e as contas vinham
sempre nas piores alturas; e foi buscar uma lâmpada à despensa. Costumava
ter algumas de reserva e olhou em redor, mas, como não descobriu
nenhuma, calculou que o marido as tivesse posto noutro lado. Fechou a
porta e dirigiu-se ao quarto de arrumos, que estava forrado a estantes e
caixas onde guardavam apetrechos, brinquedos e as roupas que deixavam
de servir à Clara, na esperança cada vez mais remota de terem outro filho.
Tinham adiado a intenção algumas vezes, até deixarem de falar sobre isso, e
a Elisa fora ajeitando umas pontas do futuro pelo caminho. Não se
incomodava com as reviravoltas nos planos desde que estivessem todos
bem. Aquele quarto também servia de escritório e, embora não fosse muito
folgado – um canto onde cabia uma secretária e um par de móveis à justa –,
o Artur podia trabalhar ali tranquilamente, sem ter a Clara a interrompê-lo a
toda a hora. Ganhariam mais espaço se transferissem algumas coisas para a
arrecadação agrícola do terreno de cultivo, a poucos minutos dali, mas o
Artur não se queria desfazer das ferramentas e da tralha da tia que ainda lá
havia.
A Elisa percorreu os armários, deparando-se com a última porta trancada,
onde supôs haver documentos e máquinas fotográficas − as lâmpadas é que
não estariam lá, certamente; e, ao revirar uma caixa junto a um saco de
parafusos, já meio enfadada, lá encontrou o que procurava. Mais
descansada, levou consigo um escadote e trocou rapidamente a lâmpada,
retemperando a água do banho da filha.
Cerca de meia hora depois, sentou-se no sofá, mas estava tão
desconcentrada que a Clara teve de lhe puxar o braço mais de uma vez para
se fazer ouvir. O desaparecimento da Alice abalara-a profundamente. Não
se atrevia sequer a supor o que a Mariana estaria a sentir, sem saber da
miúda, devastada, impotente, apenas à espera de que lhe trouxessem
notícias. Tão-pouco a julgava, podia acontecer o mesmo a qualquer um;
mas os costumes da terra já não a surpreendiam: as pessoas cochichavam
pelos cantos, numa voracidade de bichos esfomeados, estranhando a calma
dela, o silêncio, e recriminando-a por coisas insignificantes. E a Mariana
era apenas mais uma vítima do acaso.
A Elisa fartou-se de pôr hipóteses, provavelmente influenciada pelas
notícias insanas que volta e meia abriam os telejornais, nenhuma delas
animadora: bebés que escapavam ao olhar da família e se sumiam num
ápice; crianças raptadas misteriosamente; adolescentes seduzidos por
criminosos hábeis; mães e pais que matavam os próprios filhos. E, quando
algo tão incongruente acontece, a humanidade parece condenada ao
fracasso. Mesmo que evitasse cair no sensacionalismo mediático, os
acontecimentos repetiam-se, um pouco por todo o lado, semeando o horror
e o pânico. Por vezes corria bem, passadas horas descobriam-se as crianças
num matagal contíguo, porque foram andando e se perderam, ou
apanhavam-se os culpados e fazia-se algum tipo de justiça, restituía-se uma
sensação de segurança às pessoas. A audiência respirava de alívio,
precatava-se, e provavelmente esquecia. Mas alguns casos tinham um
desfecho trágico ou ficavam por resolver (qual das hipóteses a pior), e a
angústia dos pais devia ser avassaladora. Ninguém se esquece das crianças
que não voltaram para casa, fica para sempre um vazio, um incómodo, um
medo que não deixa sossegar.
Porque só é preciso um instante.
O perigo está sempre à espreita.
E nem sempre vem pela mão de estranhos.
O Artur entrou e pendurou o casaco no bengaleiro. Chegando à sala, deu
um beijo carinhoso à mulher e abriu os braços para a filha, que lhe saltou
imediatamente para o colo com um gritinho de contentamento.
– Ui, é melhor trocar essa fralda! – reclamou o Artur, apertando o nariz
teatralmente.
– Outra vez? Ainda há pouco a mudei… Temos mesmo de comprar um
bacio – lembrou a Elisa.
Por sua vontade, teria iniciado os treinos no início da primavera, quando a
filha fizera dois anos e o frio por fim aliviara, mas o marido achava que
estavam muito a tempo; não tinha pressa de a ver crescer.
O Artur levou a filha para o quarto e regressou alguns minutos mais tarde
com a missão cumprida.
A Elisa não lhe deu logo a notícia, imaginou que ele se tivesse apercebido
do frenesi ou dos comentários que faiscavam em redor; e realmente não
tardou a perguntar-lhe:
– Aconteceu alguma coisa? Está uma confusão lá fora…
– Nem queiras saber, a filha da Mariana desapareceu esta manhã a
caminho da escola, imagina – explicou a Elisa disfarçadamente para não
assustar a filha com a conversa.
– A sério? − surpreendeu-se. − Então é por isso que a polícia e os
jornalistas andavam por aí, assarapantados. Ainda pensei que tinha havido
algum assalto, ou que alguém tivesse armado confusão na taberna, mas com
esta não contava…
– Pois, custa a crer. Andam a vasculhar a região de ponta a ponta, à
procura dela. Só espero que não lhe aconteça nada de mal – partilhou a
Elisa, angustiada.
– Há pessoas capazes de tudo – advertiu o Artur com um ar grave,
olhando para a filha com apreensão. – Mas não adianta pensar no pior, se
calhar a miúda fez alguma traquinice e escondeu-se por aí; já sabes que
estes miúdos andam muito à solta. Mas, afinal, como é que ela
desapareceu?
Pousou e menina no chão, sentando-se ao lado dela para ouvir a história
e, assim que soube que o António organizara um grupo para ajudar nas
buscas, prestou-se logo a ajudar. A Elisa não estava à espera de outra coisa.
– Fazes bem − aprovou −, temos de ser uns pelos outros, ainda para mais
num momento destes. Se não fosse pela Clara, até ia contigo – deu-lhe um
beijo, reparando: − Camisa nova?
− Pois, que remédio, tive um furo a caminho do Porto e sujei-me ao
mudar o pneu – comentou, aborrecido. – Este carro só me dá chatices,
qualquer dia troco-o.
− Andas sempre a dizer isso – provocou a Elisa –, já nem ligo.
− Agora é de vez − prometeu com um ar sério. − Até já teria arrumado o
assunto, se o meu patrão não fosse tão forreta no desconto. Logo se vê, vou
só vestir qualquer coisa mais confortável.
− E a camisa suja?
− Ficou no carro, depois trago-a ou deixo-a na lavandaria.
− Olha, com esta confusão toda nem tratei do jantar… – lembrou-se a
Elisa. − Acho que vou aquecer uma sopa e faço uma omelete num instante.
Pode ser?
– Deixa lá, comam vocês, eu depois desenrasco-me – disse-lhe o marido
já do corredor.
Passados minutos, a Elisa foi ao quarto, dobrou a roupa abandonada na
cadeira e pegou num molho de folhetos que o marido trouxera da feira
automóvel no Porto. Tencionava arrumá-los no escritório quando reparou
nuns modelos assinalados e resolveu deixar tudo no mesmo lugar. Talvez
agora ele falasse mesmo a sério. Já pronto, o Artur deu-lhe um beijo, fez um
carinho à filha e apanhou um casaco na entrada.
A Elisa espreitou-o pela janela, até o ver afastar-se. Sentia-se inútil por
ficar em casa sem fazer nada, mas, pelo menos, o Artur participaria nas
buscas, trazendo-lhe notícias.
Enquanto ela e a filha jantavam, surgiu-lhe a ideia de partilhar um apelo
nas redes sociais: quanto mais depressa a notícia se espalhasse, melhor. Só
precisava de uma fotografia da Alice e devia ter algumas tiradas na festa de
aniversário da Clara, havia dois meses.
Depois de lavar a louça, levou a filha para o escritório e ligou o
computador. Encontrou logo um atalho para as imagens, mas não conseguiu
entrar. O marido era um pouco paranoico com a segurança informática –
passava a vida a deixar-lhe recomendações de que ela se esquecia quase
imediatamente, não tinha paciência para engenhocas nem tempo a perder; o
mais importante era encontrar a miúda. Lembrou-se de que tinha partilhado
umas fotos do aniversário da filha no Facebook e não demorou a escolher
uma da Alice.
Assim que publicou o apelo, não resistiu a dar uma espreitadela a
algumas recordações do nascimento da Clara, quando ainda moravam em
Lisboa, e percorreu-as, deliciada. Deparando-se com uma fotografia tirada
com as antigas vizinhas, num lanche domingueiro em sua casa, deteve-se
uns segundos a olhar para ela. Havia qualquer coisa de familiar naquele
retrato, mas não conseguia perceber o quê. Não voltara a falar com elas
desde que se tinham vindo embora e tinha de lhes ligar para pôr a conversa
em dia. Quem sabe ainda voltasse a Lisboa durante o verão, para ver a mãe,
e se encontrassem por lá.
Retornou à fotografia da Alice no ecrã e suspirou profundamente.
Nem queria imaginar se fosse consigo.
13
O ajuntamento tinha-se dispersado nas buscas, deixando apenas meia
dúzia de sentinelas à porta da Mariana, enquanto ela falava com a polícia.
Estava tão desorientada que perdera noção do tempo. Por mais que a noite
se alongasse, voltava sempre àquela hora em que vira a filha pela última
vez.
Havia uma fotografia da Alice em cima da mesa da sala, e a Mariana não
despegava os olhos dela.
Parecia frágil, desorientada, confundia-se com as perguntas, atrapalhava-
se nas respostas, continuava à espera de que a filha aparecesse a qualquer
momento. Houve uma discreta troca de olhares entre dois inspetores.
Inteiravam-se de factos e pormenores, qualquer informação podia ser
importante. Indagaram hábitos, existência de doenças ou atritos, alterações
na rotina, algum acontecimento estranho, mudanças no comportamento da
Alice, sinais de bullying ou problemas na escola, com quem brincava e o
que gostava de fazer, alguém que a tivesse visto sair de manhã, se a
Mariana dera pela falta de alguma coisa; e, quanto mais investigavam, mais
ela se baralhava. Retornaram ao que se passara naquelas primeiras horas do
dia, quem fez o quê, como, onde, quando e porquê, como se compusessem
o lead da notícia, e ela repetiu o que lhes dissera antes, mas eles insistiram,
não descartavam a hipótese de a história estar mal contada.
A Mariana reconstituiu os acontecimentos daquela manhã. Tomaram o
pequeno-almoço juntas, e a Alice até estava muito animada com a
possibilidade de ficar com um gato da quinta. Viu-a sair para a escola,
acenou-lhe quando ela se virou para trás, mesmo antes de contornar a
esquina, e de seguida entrou em casa. Foi trabalhar e esperou que a filha
fosse ter com ela à mercearia, a meio da tarde, como era hábito. De vez em
quando olhava para o relógio e começou a estranhar o atraso, mas não se
alarmou; o mais certo era ela ter-se distraído com a brincadeira, não era a
primeira vez. Passou-se quase meia hora até que voltasse a olhar para o
relógio e, nessa altura, resolveu fechar a loja e ir ao encontro dela. Quando
chegou à escola já não se ouvia o rebuliço das crianças. Outras mães viram-
na de passagem e, se lhes perguntassem, diriam que mantinha a expressão
do costume, nem alegre nem triste, meio alheada. Só quando encontrou a
professora, à porta da sala, ficou a saber que a Alice não aparecera lá nesse
dia. Ela teve de lho dizer várias vezes, como se falasse uma língua
estrangeira, porque a Mariana manteve aquela expressão de quem não
estava a entender patavina. Parecia ter entrado em curto-circuito. A
professora prontificou-se a acompanhá-la à esquadra quando percebeu o
que acontecera, lembrando-se de ter visto um homem rondar o gradeamento
da escola uns dias antes, embora, ao longe, não tivesse dado para o ver em
condições; mas a Mariana nem a ouviu, não conseguia acreditar que a filha
tivesse realmente desaparecido, porque há coisas tão impensáveis que não
encaixam.
Saiu da escola sem saber como, porque não sentia pés nem pernas,
arrastava o corpo pela rua, a cabeça às voltas.
Fez dois telefonemas – um para a tia e outro para o pai da Alice – que não
serviram de nada porque nenhum deles vira a criança. Tinha de haver uma
explicação plausível e a Mariana correu as hipóteses todas. A Alice andava
constantemente a saltaricar pela rua e a escapulir-se para casa dos amigos, e
provavelmente estaria com alguém. A Mariana palmilhou a vila, sozinha,
sem causar alvoroço. Procurou-a no parque infantil; no terreno de
eucaliptos que se estendia nas traseiras, porque às vezes os miúdos
enfiavam-se por lá adentro para brincar às escondidas; espreitou na tasca;
percorreu o areal; falou com os colegas dela; bateu à porta dos vizinhos.
Ninguém a vira. Entrou na loja de doces, de mãos entrelaçadas, como se
não soubesse o que fazer com elas. A Elisa arrumava os expositores,
enquanto a Clara empilhava cubos de plástico numa mesa colorida, e a
resposta foi a mesma. No final, voltou à mercearia para ver se a filha
aparecera, desejando encontrá-la sentada no passeio, à sua espera, mas não
teve essa sorte.
Nisto ocorreu-lhe uma última possibilidade, tão viável que, por
momentos, se aquietou: a Alice só podia estar na quinta. Mas, quando lá
chegou, não avistou o caseiro nem o filho. Assim que a carrinha parou junto
ao portão, foi ter com eles, esperançada. O pai mandou o filho para dentro
quando se apercebeu da seriedade do problema, mas ele não lhe deu
ouvidos e percorreram o terreno juntos à procura dela. O cesto dos gatos
continuava no mesmo sítio, encaixado entre os arbustos, protegido por uma
lona, e as malgas estavam abastecidas de água e leite. O filho do caseiro
agachou-se e ficou a olhar para os bichos, momentaneamente esquecido da
amiga. Estava tudo igual. A Alice é que não estava em lado nenhum.
E só então a Mariana foi capaz de acreditar.
Os inspetores ouviram-na, tomaram notas, fizeram umas perguntas atrás
das outras, algumas tão violentas que lhe deixaram marcas, nenhuma delas
ao acaso; sobretudo se a Alice alguma vez fugira, se costumava ir para a
escola sozinha, e se chegara realmente a sair de casa, porque a verdade é
que ninguém a vira passar.
Houve uma pausa quase impercetível pelo meio, estudaram-lhe a reação,
deram-lhe oportunidade de o admitir. Foi como se lhe pregassem um murro
na cara. A Mariana não completara os estudos, mas não era parva. Aquela
constatação aparentemente inócua trazia uma suspeita aterradora. Haviam
de passar a casa a pente fino à cata de pistas; interrogar a vizinhança para
saber que tipo de mãe ela era, com quem se dava, se ficara muito triste com
o desaparecimento da miúda ou nem por isso; esmiuçar falhas; procurar
motivos; apurar ocorrências.
Porque bastava um descuido.
Como no dia em que se esquecera da garrafa de lixívia no parapeito da
janela e encontrara a filha a brincar com ela. Ou daquela vez em que a Alice
não acordava, e a abanou, apertou-lhe a bochecha, e ela a pender-lhe nos
braços. Ou ainda daquele momento tenebroso em que se virou, por um
instante, ia jurar que uns segundos, para estender a roupa, e quando deu
conta a Alice tinha desaparecido. Foi a primeira vez. A filha era muito
pequena e só tivera tempo de dar meia dúzia de passos, mas podia ter ido
mais longe ou aparecido alguém que lhe deitasse a mão.
Minutos, segundos, um deslize.
De repente algo inimaginável acontece.
E a Mariana tinha medo do hospital; das perguntas dos médicos; da
expressão que fariam se numa dessas ocasiões a Alice tivesse ingerido a
lixívia, ou morrido durante o sono, ou sido atropelada; medo dos
segredinhos entre eles; das conjeturas; daquilo que contariam à polícia; dos
relatórios dos técnicos que, franzindo o sobrolho, recomendariam sem
relutância alguma que lhe tirassem a miúda. Quis garantir aos inspetores
que nunca lhe batera, era praticamente verdade, mas houvera uma vez,
quase uma sacudidela nas nádegas, fruto dos nervos, da fadiga, das noites
mal dormidas, e o gesto doeu-lhe tanto que ainda guardava remorsos.
A tia conhecia-lhe bem os erros e fazia questão de lhos lembrar amiúde;
era a sua forma de a manter calada. Ia mostrando as garras, deixando-lhe
pequenos avisos, e a Mariana sabia, melhor do que ninguém, aquilo de que
a Josefa era capaz.
Os inspetores liam nas entrelinhas, mas mostravam-se circunspectos.
Qualquer dado podia contribuir para aclarar a situação e apontar suspeitos.
Perguntaram pelo pai da criança, registando tudo, não seria o primeiro a
sequestrar a filha só para marcar pontos, e as possibilidades estavam todas
em aberto. Por vezes as pessoas enredavam-se em disputas e usavam os
miúdos para se vingarem, ou estavam tão deprimidas que não viam nada de
bom na vida e cometiam verdadeiros atos de loucura. Tantos casos infelizes,
tantas perdas. Certamente recaíam suspeitas sobre ele, ou sobre ela, porque
podia haver ressentimentos antigos; e era verdade, a Mariana não tinha
como negá-los, quantas vezes os apregoara para quem a quisera ouvir? Ele
não era um pai a sério; nunca levara a filha ao médico, nunca lhe limpara as
feridas e dera um beijo para passar, nunca lhe cantara os parabéns ou uma
canção para adormecer, nem deixara um só presente debaixo da árvore de
Natal, e ainda que, a determinada altura, se tivesse enchido de
arrependimentos e vontade de corrigir o passado, já não havia espaço para
ele, e a Mariana não estava disposta a arranjá-lo. Às vezes o coração vai-se
apertando.
Nunca contara a ninguém que ele tentara ver a Alice havia uns quatro
anos, nem sequer à filha, que tanto lhe perguntava pelo pai, e agora
arrependia-se, porque não sabia se teria oportunidade de emendar o erro.
Não lhe parecia justo que ele as tivesse largado e depois aparecesse de
visita, como se nada fosse, ou telefonasse para saber se podia levar a filha à
escola; era o que faltava, só porque de repente lhe dera vontade. Ligara-lhe
porque estava tão descarrilada que de repente lhe passou pela cabeça que
ele a tivesse levado. Nos últimos tempos, ele insistia tanto em ver a filha
que lhe pareceu possível. Mas ele mostrou-se indignado, assegurando-lhe
que jamais levaria a Alice sem consentimento, nem coragem tinha de a
chamar se a visse na rua, porque, para dizer a verdade, não passava de um
estranho. E, apesar de tudo o que estava para trás, a Mariana acreditou nele.
A Alice era muito estimada por todos, garantiu a Mariana aos inspetores,
nem sequer admitia a hipótese de algum conhecido lhe fazer mal. E não era
a única.
O desaparecimento da Alice teve o impacto de uma catástrofe.
Fez a vila estremecer como um sismo.
As pessoas inquietavam-se, perplexas, de crenças abaladas. As crianças
amedrontavam-se, assombradas por personagens malévolas, fantasmas,
criaturas imaginárias, e os pais, tomados pelo susto, trancavam-nas em casa
enquanto reclamavam um culpado. Em pouco tempo, o local encheu-se de
investigadores, equipas cinotécnicas com cães pisteiros, jornalistas,
transformando-se numa notícia de última hora, quase um espetáculo para
entreter o povo. O Presidente da Junta comprimia-se num fato apertado para
o seu tamanho, estrafegado pela gravata carnavalesca de pinguins, não,
patos, que a filha mais nova lhe pedira que usasse, esforçando-se por
parecer mais esguio à frente das câmaras. Os tagarelas avançavam
hipóteses, como se fossem especialistas na matéria, e abalroavam os
inspetores com perguntas e intervenções. As velhas acendiam velas e
reuniam-se à volta do padre para depenicarem o caso, rotulando-o de obra
do demónio. Juntou-se a pandilha da tasca, cada um com as suas suposições
toldadas pelo vinho ou pela vaidade. Até o Jeremias apareceu, já noite feita,
mas limitou-se a apreciar a confusão de longe.
Apesar de tudo, ficou-lhes o medo.
A vila era um lugar pacato, onde nada de grave acontecia. Quando muito,
umas animosidades por excesso de álcool, multas de estacionamento e
desacatos sem importância. Tirando uma tentativa frustrada de assalto à
farmácia e alguns carros que um dia amanheceram pousados em quatro
tijolos, desde que um bando de delinquentes varreu pneus e jantes pelo
concelho fora, eram raros os crimes, e os moradores mais antigos ainda
dormiam sem trancar a porta. À exceção da carnificina que acontecera
havia muitos anos na casa assombrada, e que de certa forma conspurcou a
reputação da vila, eternizando-a na memória das pessoas, não havia registo
de uma tragédia como aquela. Os residentes protegiam-se e apontavam logo
culpas a gente de fora: veraneantes, estrangeiros, a malta dos festivais. E
não o faziam por mero compadrio; a possibilidade de alguém que
conhecessem estar envolvido no desaparecimento da Alice – amigos,
colegas, vizinhos, pessoas com quem se cruzavam todos os dias na rua, na
mercearia, com quem partilhavam copos e mexericos na tasca, gente que
frequentava as suas casas, a quem confiavam os filhos – era simplesmente
inconcebível.
O drama alvoroçou novamente o país e o mundo. Uma criança
desaparecida causa estrondo em qualquer lugar. E mesmo quem não
conhecia a Alice e a família, nem sequer tinha ouvido falar daquela terrinha
despretensiosa, esquecida à beira-mar, se sensibilizou com o acontecimento.
Toda a gente aconselhou a Mariana a ter companhia enquanto decorria a
investigação, achando que não era prudente estar sozinha num momento tão
crítico. Os tios insistiram em que ficasse com eles e a Isaura prestou-se logo
a recebê-la, mas ninguém a convenceu a arredar pé de sua casa. Os
inspetores cirandavam pelo quarto da Alice e mexiam nas coisas dela:
viraram o armário do avesso, examinaram agendas, diários, brinquedos,
apreenderam alguns pertences para análise. Estavam empenhados em
descobrir o que lhe acontecera naquela manhã, e a Mariana queria ajudar e
acompanhar os desenvolvimentos de perto. Além disso, era para casa que a
Alice voltaria se desse com o caminho ou se conseguisse libertar de quem a
tinha levado, era a morada que daria no caso de a encontrarem perdida. E a
Mariana não concebia a hipótese de a filha bater à porta e lá não estar para
lha abrir.
Quando se viu sozinha, já a madrugada dava timidamente os primeiros
passos, encolheu-se num canto do sofá e lá ficou. Contara tudo o que sabia
à polícia, estava esgotada e não lhe apetecia falar com mais ninguém.
Sentira-se enlouquecer com tanta gente em redor horas a fio, numa
salgalhada de caras e vozes, distribuindo culpas, palpites e frases feitas.
Como se fizessem ideia daquilo por que ela estava a passar, deitando as
mãos ao peito quando pensavam que lhes podia ter acontecido o mesmo. Só
que não lhes tinha acontecido a eles. Não sabiam o que era deixar um filho
sair de casa só com um beijo e um aceno e não o ver voltar. Nem ela fora
ainda capaz de processar o acontecimento – havia pesos tão desumanos que
dariam cabo de qualquer um –, ia empurrando os medos para longe,
convencida de que em breve a Alice estaria de volta.
Sonhava tanto com o momento de a ver chegar.
Quando ouviu tocar a campainha duas vezes seguidas, como a Alice tinha
por hábito fazer, levantou-se de um pulo, sobressaltada. Correu para a porta
e quase tropeçou no degrau da entrada, tal era o seu atordoamento. Os
mosquitos iam dançando em torno da lâmpada que alumiava vagamente o
pátio, e mal dava para descortinar a Josefa.
A tia aproximou-se, tão lenta e vergada como se os ossos se quebrassem a
cada passo, os olhos numa névoa sem lágrimas, perguntando-lhe tão baixo
que a frase se dissipou logo na noite:
– Conta lá. Sabes o que aconteceu à menina, não sabes?
14
Algumas pessoas são tempestades, levam tudo à frente sem olharem aos
estragos que causam.
O desaparecimento da Alice deixara a Josefa de rastos, porque os anos de
repente lhe pesavam como séculos e a tristeza se irradiava pelo corpo como
uma espécie de ciática, mas não descansava enquanto não tirasse a história
a limpo. Não tivera oportunidade de falar com a sobrinha a sós desde que a
confusão se instalara e não lhe saía da cabeça que ela estava a esconder
alguma coisa; por isso, endireitou-se e segurou a voz:
– Sabes o que aconteceu à menina, não sabes?
A Mariana sentiu o coice, mas não respondeu, não protestou, não se
indignou com a acusação. Não chegou a pensar no que ouvira. Olhou para a
tia como se não a visse, ignorou-a, mergulhada numa estranha apatia que
parecia impedi-la de reagir. À primeira vista, dir-se-ia que estava em estado
de choque, ou apoplética, mas era impossível assegurar que o silêncio se
devesse apenas ao trauma ou à surpresa causada pela pergunta. Aprendera,
ainda na infância, que, por vezes, as palavras eram apenas ruído,
interferiam, não faziam falta. Tantas vezes, ela e o pai, mudos, a dizerem
tanto sem dizer nada, e com o tio quase o mesmo.
Não precisava de que a tia a recriminasse com o olhar, como se lhe
pregasse uma bofetada, como se na verdade lhe apontasse
não vales nada,
porque esse medo já ela o tinha.
Mas a Josefa ficou ainda mais desconfiada com aquele silêncio.
Começou por um abanão ligeiro,
– Sabes que a polícia me fez perguntas…
para ver se a apanhava desprevenida, como se a Mariana não estivesse
cansada de saber que escrutinavam tudo, começando pelas pessoas mais
próximas – família, vizinhos, amigos. Talvez a Josefa esperasse que o susto
a obrigasse a confessar alguma mentira, como acontecera doutras vezes.
– Quiseram saber porque é que fui eu a avisar a polícia. Seria natural que
participasses o desaparecimento da tua filha, que telefonasses ou corresses
para a esquadra, toda a gente sabe que nestes casos se deve pedir logo
ajuda. Tinhas medo de quê? Vá, desembucha. Afinal, foste a última a vê-la,
e uma criança não some assim de repente, sem deixar rasto. Dizes que foi
para a escola, mas ninguém a viu passar. Ao fim da tarde ligaste-me com
uma conversa enrolada, a perguntar se ela estava lá em casa e, nessa altura,
nem pensei no pior. Não te bastou perderes tempo com insignificâncias,
andares por aí como uma tonta, pavoneares-te na praia, meteres conversa
com os vizinhos, em vez de pores logo gente capaz à procura dela. Por mais
voltas que dê à cabeça, não entendo o que aconteceu. Sempre foste
desleixada, perdi a conta aos descuidos, atitudes sem nexo, incidentes
inexplicáveis. E talvez tenha sido esse o caso, é possível, talvez tenhas tido
uma daquelas ideias estapafúrdias e metido os pés pelas mãos… − a Josefa
fez uma pausa condescendente e então desferiu o último golpe. − Afinal,
não era a primeira vez que punhas a tua filha em risco.
A Mariana jamais poderia apagar aquela imagem da memória. Ainda que
quisesse, tudo tão fresco como se tivesse acontecido na véspera.
A Alice não acordava.
Estava ali, tão quieta, nem um suspiro, como morta.
A Mariana era quase uma criança quando tivera a filha, faltava-lhe
maturidade, instrução, sensatez e uma série de coisas que não seria de
admirar não ter naquela idade, sobretudo com uma infância tão desafinada.
Um dia ouviu a padeira queixar-se de que o remédio para as alergias lhe
fazia sono, passava a manhã a bocejar, e pensou em dar um bocadinho à
filha para a pôr a dormir mais depressa. A Alice era difícil de sossegar,
chorava muito, acordava por tudo e por nada; a Mariana não viu mal em
tentar. E realmente foi tiro e queda, ela caiu no sono a meio do biberão. A
Mariana sentiu-se aliviada e deitou-se, ansiosa por uma noite de descanso.
Mas depois ficou com medo de ter exagerado na dose, deu voltas à cabeça e
já nem sabia que quantidade misturara no leite, porque um bocadinho era
muito relativo e as colheres não mediam todas o mesmo. Ajoelhou-se na
cama e tirou a filha do berço. A Alice não acordava. A Mariana fez de tudo,
andou com ela de um lado para o outro, soprou-lhe no rosto, beliscou-lhe a
bochecha várias vezes, e ela inerte, a respiração tão leve que mal se sentia.
Entrou em pânico e acordou a tia, aos gritos, tal era o medo de que a filha
morresse.
Foi o que sentiu quando a viu inanimada: que a tinha matado.
E a tia pensou o mesmo.
A Josefa, que sempre tivera sangue-frio nas piores situações, estarreceu
quando a viu com a filha desfalecida nos braços e demorou tanto a reagir
que a Mariana achou que estava tudo perdido. Ainda tentou esconder o que
fizera, mas não foi longe: a tia tirou as suas próprias conclusões assim que
viu o frasco do remédio ali aberto e ela acabou por assumir a asneira.
Naquela altura, o António fazia o turno da noite numa obra e só
regressava de manhã, mas nem lhe chegaram a telefonar. Chamaram um
táxi e correram para as urgências, ensaiando uma história que decerto não
iludiu os médicos, providos de perguntas e desconfianças. Mas a bebé
acordou assim que lhe espetaram uma agulha no braço, chorou, mais tarde
tomou um biberão de leite e voltou ao normal. O António nunca soube do
que aconteceu naquela noite, porque a Josefa decidiu não lhe contar. Mas a
Mariana tinha a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a tia iria usar
aquele maldito incidente contra ela.
Por isso, ouviu tudo sem se defender. Falara com os inspetores e não
devia explicações a mais ninguém. A relação com a tia estragara-se muito
antes de a Alice ter nascido e nunca mais foi a mesma, por mais que se
empenhasse em reconquistar o afeto dela, um carinho, um elogio, o amor
que só a Alice lhe descobriu no coração, como se fosse uma coisa fácil. A
Mariana estava habituada às desfeitas, implicâncias, reparos, pequenas
alfinetadas, desde miúda, e não costumava valorizá-los. Em muitos aspetos
até acabava por dar razão à tia, porque nunca se tivera em grande conta.
Mas agora era diferente, estava em causa a filha, que era tudo o que tinha de
valor. E se permanecia calada era porque de alguma forma se sentia
responsável pelo que acontecera.
Não ligara para a polícia porque tivera medo, era verdade, a tia conhecia-
lhe bem as fraquezas. Assim que falou com a professora, pensou logo no
pior, mas não se deu por vencida. Mentalizou-se de que iria encontrar a
filha. Tantas vezes viramos costas à verdade, na esperança de ela não vir ao
nosso encontro. Esperou que a Alice se tivesse escapulido para ver a
ninhada de gatos, ficando com medo de levar um raspanete, o que era
improvável, porque o caseiro trataria logo de avisá-la, mas precisava de
acreditar nisso. Assim que lá chegou, porém, reconheceu que só havia uma
explicação para o desaparecimento da Alice.
Alguém a levara.
Não lhe saíam da cabeça os gatos enjeitados pela mãe. E se calhar foi
assim que a filha se sentiu, abandonada, porque devia ter havido um
momento em que se virara para trás, esperando vê-la ao portão; devia ter
gritado por ajuda, supondo que estivesse lá a mãe para lhe acudir; devia ter
acreditado que ela iria encontrá-la em qualquer parte, porventura guiada por
uma espécie de instinto materno. A Mariana tinha obrigação de a proteger, e
fracassara em quase tudo na vida, não se penalizava muito por isso, só não
admitia ter falhado no momento em que a filha mais precisara de si.
Não chamou a Guarda ou fez a participação à Judiciária, porque tinha
medo de encontrar as palavras para o que havia a dizer. Pegou no telefone
para o fazer várias vezes, mas acobardou-se. Como poderia explicar-lhes
que a filha tinha desaparecido, numa manhã igual às outras, a caminho da
escola? Parecia que os erros e os sustos do passado não lhe serviram de
emenda. Bem leu a desconfiança nos olhos dos inspetores quando lhes
contou e recontou a história, a ver se ela se enganava nos factos ou caía em
contradição.
A Josefa conhecia-a muito bem, mas estava longe de adivinhar o que lhe
ia no pensamento.
A Mariana trazia o segredo bem guardado.
E talvez o usasse em seu proveito se não fosse pela letargia que se
apoderou dela. Poderia desarmar a tia num piscar de olhos; ela enchia-se de
moralismos, mas não lhe faltavam telhados de vidro. As palavras
começaram a fervilhar-lhe na mente, sabia exatamente quais abririam a
maior ferida e queria desesperadamente infligir-lhe dor. A Mariana sentia
muitas coisas naquele momento, mas nenhuma delas era medo.
A verdade tinha de vir ao de cima, e esteve prestes a deitar-lhe a mão.
Mas ficou-se por um aviso.
– A tia esteja caladinha, que eu também sei muito bem o que andou a
fazer e não lho atiro à cara.
A Josefa engoliu em seco, tantos segredos a apodrecerem com dela, um-
dó-li-tá, viesse o diabo para escolher um e ver-se-ia grego, mas sabia muito
bem ao que a Mariana se referia, pelo menos achava que sabia.
Aconteceu, mais do que uma vez, a Mariana ver o que não devia.
Calhou de se deparar com os dois no quarto, certa ocasião, era ela pouco
mais velha do que agora a filha. A Josefa levantou-se, embaraçada, e fechou
a porta, enquanto o padre se debatia com o fecho das calças. Depois de se
recompor, foi ter com a sobrinha, explicando-lhe cautelosamente que estava
a rezar. E talvez a Mariana tivesse acreditado na explicação, porque era
muito ingénua e, na indeterminação da penumbra, só vira a tia ajoelhada
diante do padre.
Até saber mais sobre as pessoas,
e ter idade para compreender o que via.
15
A tasca estava quase deserta ao anoitecer, e nem lhe valia o estardalhaço
da televisão para aliviar o silêncio. Andava muita gente na rua para procurar
a Alice ou só para falar do assunto, encasacada e de xailes descaídos nos
ombros para afastar o relento. O Coxo e o ajudante tinham regressado havia
pouco da primeira ronda e sentaram-se, mudos, os olhares desfalecidos
sobre o balcão. O filho do farmacêutico estava refugiado num canto,
sozinho, com o café a arrefecer na chávena, a tentar inutilmente preparar-se
para a morte do pai, que já nem uma palavra dizia, só um som áspero lhe
vinha do peito, e a tristeza que era vê-lo assim. Quando entrou um cliente,
já a tombar de bêbado e a queixar-se da pasmaceira, perguntando se morrera
alguém, a Isaura perdeu a cabeça e arremessou um jarro na sua direção. O
homem deu um salto para trás, com um palavrão de espanto, sacudindo os
vidros das biqueiras dos sapatos, e desapareceu, aos tropeções, a protestar
num palavreado trôpego como ele. A Isaura nem se mexeu para varrer os
cacos. Deixou-se cair numa cadeira, sem dizer nada. As pessoas estavam
acostumadas a vê-la alegre, num corrupio entre a cozinha e o balcão, e ali
sentada, inerte, com os olhos postos no chão, parecia uma flor quebrada.
À parte a filha ausente em Londres e um punhado de amigos verdadeiros,
a Isaura não tinha ninguém. A mãe morrera quando ela tinha doze anos e o
desgosto nunca mais a largou. Sendo a única rapariga de três irmãos, teve
de aprender a cuidar da casa e da família numa idade em que ainda lhe
apetecia brincar com bonecas e escapulir-se para se fazer às ondas na praia.
Agora, o pai e o irmão mais velho geriam uma herdade no Alentejo,
raramente vinham ao Norte, e o mais novo vivia na Alemanha. Faltava-lhe
intimidade com as cunhadas e mal conhecia os sobrinhos; dois deles
arranhavam o Português, mas a contragosto, e aborreciam-se de visitar os
parentes esquecidos. Nos aniversários e nas festas falavam por telefone;
nenhum dos três tinha jeito para escrever, mas trocavam mensagens e
fotografias e, ainda que de forma mecânica, lá iam ressuscitando os laços.
O casamento da Isaura fora prematuro, ela julgava que escapava de uma
prisão sem saber que se metia noutra, e trouxe-lhe mais mágoas do que
alegrias. Divorciou-se assim que soube que o marido andava metido com
uma das muitas amantes que depois veio a descobrir. Ele acabou por refazer
a vida com uma rapariga da idade da filha, em Lisboa, e, pelo menos, a
distância reduzia os constrangimentos, mas a Isaura perdeu a vontade de se
voltar a juntar com alguém.
A vizinhança e os amigos tornaram-se família, estavam lá quando era
preciso e ajudavam-se uns aos outros. Mas nada preparara a Isaura para o
desaparecimento da afilhada e, por mais que o tentasse evitar, não
conseguia livrar-se de um mau pressentimento. Não era de beatices e só
passava na igreja de longe a longe, de preferência quando não estava lá
ninguém, mas naquela noite decidiu que tinha de acender uma vela pela
Alice.
*
Ali perto, a Salomé passava por um desconcerto semelhante. Deixara os
filhos em casa, ao cuidado da sogra, e durante as buscas não comeu, nem
parou para descansar. As pessoas que se juntaram a ela tinham ficado para
trás havia algum tempo, distraídas com conversa e mesquinhices, mas ela
mantinha um ritmo desenfreado para não se deixar apanhar pela tristeza.
Sempre que escutava algum ruído suspeito, detinha-se, apurava o ouvido,
apressava-se a investigar, enquanto ia chamando pela Alice, esperando que
de uma dessas vezes ela lhe respondesse. Mas até ao momento nada. Por
sua vez, o marido, que era tão voluntarioso quanto ela, andava com o
António e mais amigos a procurar noutra zona, embora também ainda não
tivessem tido sorte.
O Artur ia tão compenetrado ao telemóvel que mal viu a Salomé passar,
foi ela que o chamou do outro lado do passeio, mas não perderam tempo na
conversa. Acenaram e foi cada um para seu lado; não havia margem para
distrações.
O Jeremias não participou nas buscas. Quando a Salomé passou pela casa
dele, viu a luz da frente acesa e a carrinha parada à porta, mas não achou
isso estranho. À exceção do professor, com quem tinha alguma afinidade,
ele não se dava com ninguém; ou ninguém se dava com ele, era mais isso.
Apesar de ter nascido na terra, havia qualquer coisa no Jeremias que
deixava as pessoas com os nervos em franja.
Mais tarde, a Salomé chegou a casa derreada, descalçou-se e atirou as
sapatilhas para um canto. Passou na cozinha sem entrar, tinha o estômago
tão embrulhado que só o cheiro da comida lhe dava náuseas. A sogra
dormitava no sofá de olho meio aberto e despertou quando ouviu a porta
abrir-se.
– Então, alguma novidade? – perguntou com as palavras ainda
empasteladas do sono, levantando-se.
– Nada, nem sinal da pequena… – respondeu a Salomé, desiludida.
– Parece impossível, ainda não estou em mim com o que aconteceu −
desabafou, incrédula, abanando a cabeça. − E o Rui?
– Está com o António e o resto do pessoal, e não devem voltar tão cedo.
O Artur também foi ter com eles, é tão solidário, nem parece de Lisboa…
– É natural, tem costela do Norte. Lembro-me de que ele chegou a passar
aqui uns verões com a tia, em miúdo. Ela adorava aquele sobrinho, e não
me surpreendeu assim tanto que lhe deixasse a casa e o terreno. Mas olha
que eu cá nunca gostei muito dele – a sogra coçou o queixo, pensativa.
– Então porquê?
– Sei lá, tinha umas esquisitices… – resmungou com uma expressão
carrancuda, mas ficou-se por ali.
– Lá está você com as suas cismas… – a Salomé revirou os olhos,
desvalorizando os comentários da sogra. Sabia perfeitamente que não era
fácil de se lhe agradar e, quando embirrava com alguém, não havia nada a
fazer.
Depois de a sogra sair, a Salomé subiu as escadas e foi primeiro ao quarto
da filha. Deitou-se ao lado dela, com cuidado, para não a acordar. Planeava
ficar apenas um instante, o suficiente para lhe dar um beijo e sentir-lhe a
respiração, o calor do corpo, mas não conseguiu ir-se embora. Passou lá a
noite, equilibrada na borda da cama, com um braço sobre a filha que, talvez
por sorte, não perdera. Ainda na véspera a deixara brincar uns minutos no
parque, sem lhe deitar o olho, e podia bem ter sido ela a desaparecer.
*
O Artur encontrara o António pelo caminho e juntos alcançaram o resto
do grupo, empenhados em esquadrinhar cada beco da vila. Quando ali
chegara, os mais bairristas tinham-no achado um pouco emproado, porque
trazia outros costumes e outras conversas, e houve quem implicasse até com
o sotaque ou com aquela mania de pedir uma bica quando entrava na tasca,
como se fizesse de propósito para os irritar. Eram avessos à diferença, mas
foram-lhe ganhando amizade e agora o Artur era apenas mais um deles.
Alertados por um estrondo repentino, os homens puseram-se de
sobreaviso. Estavam tão tensos que pareciam feras prestes a atacar.
Caminharam devagar, como se pisassem ovos, olhando em todas as
direções. Ao virar da esquina, detetaram um vulto debruçado sobre um
contentor do lixo, na retaguarda de um prédio. Estava escuro, e o sujeito
vestia um casaco com capuz que lhe encobria o rosto. Podia ser um pobre
ou um bêbado, mas as pessoas estavam sobressaltadas e qualquer detalhe
ganhava uma importância extrema.
O António foi à frente e avançou, intrépido, na direção do desconhecido,
apalpando o bolso à procura do canivete. Quando chegou à sua beira,
agarrou-o pelo braço, furioso, e encarou-o. Reconheceu-o logo, podia tê-lo
largado com um suspiro de alívio e um pedido de desculpas, mas não cedeu.
Os outros aproximaram-se, atiçados pela reação intempestiva do
companheiro, e, ao descobrirem que se tratava do professor, ficaram em
polvorosa. Ele trazia ao colo um gato pequenino que se esgoelava num miar
fino e sôfrego, enrolado num trapo. Enchia-se de saudades da Tabuada, a
gata que a mulher lhe levara, sentia falta de companhia, e havia quem ainda
troçasse da atenção que dava os bichos.
O António não era de quezílias nem de preconceitos, sempre fora humilde
e cordato, e normalmente cumprimentava o professor com bons modos,
como fazia com toda a gente. Fora até um dos primeiros a estender-lhe a
mão quando o vira ficar sem nada, e teria repetido o gesto se o homem não
se desse tanto à mandriagem; mas naquela noite estava tão desvairado com
o desaparecimento da Alice que parecia ter perdido o discernimento.
Os ânimos começaram a exaltar-se, porque naquela altura o bando só
precisava de um pretexto para acusar alguém. O Artur não se queria meter,
mas foi levado na enchente. Por entre a confusão, agachou-se para apanhar
qualquer coisa do chão, que meteu ao bolso, enquanto os homens trocavam
comentários, impacientes. Num ímpeto de gabarolice, um deles deu um
passo em frente e engrossou a voz para intimidar o alvo.
– O que é que estás a fazer aqui escondido no beco, ó vagabundo?
Nunca mais «senhor professor», como nos tempos em que inclinavam a
cabeça para o saudarem quando passavam por ele na rua, cheios de vénias e
galanteios, e lhe levavam doces e prendas por altura do Natal.
Agora bêbado, bandalho, vadio.
– Estás a fazer-te de surdo, estafermo?
Para não dizer pedófilo, molestador, caçador de crianças, que era o que
lhes ia na cabeça desde que uma das velhas cismara na maneira como ele
olhava para os alunos. E, se calhar, era apenas a maneira como sempre os
olhara enquanto dava aulas, com dedicação e afeto, ou saudoso dos filhos
que perdera por causa do vício do jogo.
Mas o desaparecimento da Alice só lhes avivou as suspeitas e os medos.
Em segundos gerou-se uma certa conturbação. O homem estava cercado,
não tinha para onde fugir, e acanhou-se. Estranhou que estivessem todos tão
ralados com aquilo que vasculhava no contentor, como se andasse à cata de
sobras por gosto, e garantiu que limpava tudo, porque no pico da tensão
ainda julgou que o problema fosse a desordem. Ajoelhou-se e apanhou o
lixo que despejara na calçada, de rastos, desfazendo-se em desculpas.
Mas não era tanto no professor que os olhos do António se cravavam de
forma penetrante; o que lhe chamou a atenção foi outra coisa. Não tinha a
menor dúvida, reconhecê-la-ia em qualquer parte: entre os sacos do lixo
estava uma mochila azul, às flores, tal qual a da Alice.
16
A noite não trouxe sossego a ninguém.
Até os cães estavam mais agitados do que de costume, instigando-se uns
aos outros num desconcerto de latidos junto às grades dos portões.
A Elisa foi ver a filha duas ou três vezes para se certificar de que ela
permanecia lá − aflição de mãe, partidas da mente − e ainda estava
acordada quando o marido chegou. Como ele não se foi logo deitar,
levantou-se, desejosa de saber novidades. Encontrou-o precisamente no
quarto da filha, aconchegando-lhe o lençol. O Artur surpreendeu-se por a
ver a pé àquela hora, mas não disse nada, e os dois saíram do quarto em
pezinhos de lã para não acordarem a Clara.
A Elisa percebeu logo pela expressão dele que as buscas tinham sido um
fracasso. Ainda assim, quis ter a certeza:
– Não deu em nada?
– A miúda parece que se evaporou – desabafou o Artur, pensativo,
relatando-lhe os últimos acontecimentos.
Ela ficou espantada com a história da mochila, pois o professor parecia-
lhe boa pessoa, custava-lhe acreditar que fosse capaz de fazer mal a alguém,
e até tinha muita pena de o ver na miséria. Mas os boatos que corriam sobre
ele não eram abonatórios.
– Olha que toda a gente diz que ele não é de fiar – lembrou-lhe o Artur.
A Elisa encolheu os ombros e voltou para a cama, contando-lhe que
partilhara um alerta sobre o desaparecimento da Alice nas redes sociais.
Com sorte, talvez se tornasse viral.
− Depois tenho de te perguntar uma coisa, ando sempre à nora com o
computador… − comentou, distraída, esperando que o marido se despisse.
Assim que ele se deitou, aconchegou-se nele, acariciando-o, pois os
momentos de intimidade entre os dois eram cada vez mais raros. Mas o
Artur desencorajou-a com um beijo morno.
– Estás cansado? – perguntou-lhe ela, sem se afastar.
– Estou mesmo, desculpa…
A Elisa escondeu o desânimo e voltou-se para o outro lado. Não se podia
queixar, o Artur punha sempre a família e os amigos na frente, e, de facto,
estavam ambos exaustos; o problema é que nos últimos tempos era quase
sempre assim. Precisavam de quebrar a rotina, concluiu, pensando depois
em formas de surpreender o marido.
− O que é que querias saber há bocado?… − perguntou-lhe, envolvendo-a
com o braço.
− Deixa, depois falamos − respondeu a mulher sem se voltar.
O Artur fechou os olhos, mas estava demasiado tenso para adormecer. As
buscas tinham-no deixado alerta e a cabeça fervilhava com mil
pensamentos. Quando finalmente sucumbiu ao cansaço, acordou duas horas
depois, ofegante e encharcado em suor. Esfregou os olhos e tocou no braço
da mulher, sobressaltado. A Elisa mudou de posição, mas não despertou. O
sonho que o Artur tivera era tão real que lhe dava arrepios. Afundou a
cabeça na almofada e virou-se para a parede, desviando-se cautelosamente
da mulher para não a acordar: os dois de costas voltadas, tão afastados que
nem os pés se tocavam.
Mas nem assim sossegou.
Só quando voltou ao quarto da filha e a viu lá deitada foi capaz de
serenar.
*
Estava demasiado preocupada para ter sono. Abriu a gaveta onde
guardava o terço de madrepérola e ajoelhou-se na beira da cama, a rezar
pela Alice. De vez em quando escapava-lhe uma lágrima que se apressava a
enxugar com uma certa atrapalhação. Só se lembrava de ter sentido o
mesmo aperto no peito quando lhe nascera o filho, e nem na morte dele o
suplício fora maior, porque, de certa forma, já o tinha perdido. Desde então
julgou que era imune à dor e a tudo o resto, mas o inesperado aconteceu e a
Josefa surpreendeu-se quando encontrou, lá no fundo de tudo, um pedaço
da alma quase intacto. A Alice tinha-a conquistado e dava-lhe vontade de
voltar a ser quem um dia fora, porque até ela própria reconhecia a diferença.
Se ao menos a vida não se fizesse tão labiríntica, talvez houvesse forma de
recomeçar, mas a Josefa andava tão desencontrada que não sabia que
direção seguir.
O António chegou de madrugada, estafado e desgostoso, e, quando se
deparou com a mulher a rezar, limitou-se a baixar os olhos, com o embaraço
de não ter cumprido a incumbência. Como não conseguia dormir, recolheu-
se na oficina e lá ficou até amanhecer. Quando a Josefa atravessou o pátio
para o acordar, reparou que a carrinha tinha uma pequena amolgadela na
frente. Estava ali especada, de cócoras, a apalpar a chapa, quando ele saiu
da oficina e a elucidou:
− Dei um toque no estaleiro, ontem.
– É o que faz beberes tanto.
A Josefa endireitou-se, sem voltar a tocar no assunto, e, nos poucos
minutos que passaram juntos, até ir cada um para seu lado, nenhum deles
teve coragem de falar na Alice.
Os homens arrastaram o professor até às instalações da Judiciária para
entregarem as provas – e a mochila pertencia à Alice, não restavam
dúvidas, a Mariana ficou destroçada quando lha mostraram. A única coisa
em falta era o boneco que estava preso no fecho, mas ninguém reparou
nisso.
Apesar de se mostrar ofendido com as acusações dos conterrâneos, que na
véspera o tinham espremido como se fosse uma bolha de pus, o professor
manteve-se perentório na sua inocência. Revirava os sacos atulhados no
contentor quando se deparara com a mochila. Não percebera porque a
deitariam fora, pois estava nova. Olhara à sua volta, ninguém à vista, nada o
impedia de ficar com ela, e vinha mesmo a calhar para transportar o
gatinho. Sim, poderia ter-se descartado do material escolar, mas não tivera
coragem, subitamente inebriado pelos tempos em que ensinava e a sua vida
era outra.
Ninguém supôs outra coisa no momento em que o António reconheceu a
mochila. Esvaziaram logo o contentor, com medo de encontrarem o corpo
da Alice no lixo. Embora não o dissessem em voz alta, foi no que todos
pensaram quando amontoaram os sacos no chão, silenciosos, e foi com uma
relativa sensação de alívio que depois avisaram a polícia.
Apesar de aparentemente ter inaugurado o registo de suspeitos, o
professor mostrou-se prestável e respondeu ao que lhe perguntaram, sem se
confundir. Disse que fizera mais ou menos as coisas do costume, vagueara
pelas ruas, pedira esmola, dera uma volta pela vila e, ao fim da tarde,
passara na tasca. Em nenhum momento se lembrava de ter visto passar a
Alice. Apesar de a noite ter sido atribulada, contou tudo ao pormenor, várias
vezes, sem se desviar da história.
Ao ponto de se julgar que falava verdade.
Mas havia um período de tempo sobre o qual fora bastante vago: ninguém
o vira ao começo da manhã, nem ele quis explicar por onde andara, o que
fazia supor que tinha alguma coisa a esconder.
*
A Mariana conhecia o professor desde miúda e não tinha o que dizer dele,
tão-pouco ligava às vozes que o enterraram vivo; ela própria sofrera na pele
a maledicência das pessoas quando ficara grávida. Mas já tivera a sua
quota-parte de desilusões e sabia que até as pessoas boas eram capazes dos
piores atos. Por isso, confiou que a polícia chegasse à verdade.
Não conseguia deixar de pensar na mochila, embora estivesse grata por
não terem descoberto um corpo, porque, quando um dos inspetores se
sentou na frente dela, com um ar grave,
fechou os olhos e, por momentos, ocorreu-lhe,
Encontraram-na morta.
Os inspetores quiseram ouvir mais uma vez a versão dela dos
acontecimentos, para garantirem que não lhes escapava nada. Ela repetiu o
que antes lhes contara, acrescentou uma ou outra insignificância de que
entretanto se lembrou, por descargo de consciência, mas eles não se
satisfaziam, pesquisavam, procuravam falhas, motivos. Quiseram esclarecer
que relação mantinha com o pai da filha, e ela nem hesitou na resposta:
nenhuma, claro, garantiu-lhes – cada um no seu canto.
Acontece, porém, que o dono do talho vira o pai da Alice parado junto à
casa dela, numa carrinha da empresa; precisamente na véspera do
desaparecimento da criança.
Estaria o rapaz tão interessado na filha ao ponto de lhe vigiar os passos?
A Mariana não soube dizer, mas imaginava já o que iria na cabeça dos
inspetores.
E surgiu mais uma informação a ter em conta.
Quando abordaram a professora da Alice, ela contou-lhes que vira um
homem rondar a escola, na semana anterior, mas não sabia bem de quem se
tratava.
Coincidência ou talvez não, era possível que alguém andasse de olho na
criança havia tempo.
*
Os primeiros clientes depararam-se com a tasca fechada logo pela manhã.
Desembaciaram o vidro e tentaram espreitar pelas janelas, sem sucesso, até
que se sentaram no degrau, desconsolados, à espera da Isaura.
Ninguém imaginava onde ela pudesse estar, porque não encerrava o
estabelecimento nem quando estava doente. E, ainda que se pusessem a
adivinhar, estariam muito longe da verdade.
A Isaura passou primeiro na igreja, de fugida, e acendeu uma vela.
Depois, fez o que tinha resolvido.
Quando chegou à diretoria da Polícia Judiciária, no Porto, pediu para falar
com um inspetor sobre o caso da Alice e, deixando-se de evasivas, contou-
lhe aquilo que a levara até lá.
17
A Glória entreabriu a porta do quarto e chamou pela amiga em voz baixa,
mas não ouviu mais do que um arfar agitado e deixou-a repousar. Nenhuma
das duas pregara olho a noite inteira por causa da Alice.
Telefonou à Mariana para saber notícias, esperançosa, mas a rapariga
andava tão fora de si que até as palavras lhe fugiam. Estava tudo na mesma,
ou quase, porque a criança continuava desaparecida e a mochila que tinham
encontrado nas mãos do professor não provava nada por enquanto. Já
depois de desligar o telefone, a Glória ficou a matutar no assunto. Sempre
achara que o professor era boa gente − tinha as suas falhas, coitado, havia
pior −, e muitas das coisas que se diziam dele eram pura fabulação. Mas
não acalentava ilusões; às vezes as pessoas perdiam-se, e não lhe cabia
julgar ninguém. Se a natureza humana fosse simples, o mundo não andava
tão virado do avesso.
Naquela idade, as duas viúvas não alimentavam muitas preocupações
nem expectativas. A Glória podia dar-se à preguiça, passar os dias enrolada
numa manta em frente da televisão, ou ficar a ver a vida pela janela, como
as suas vizinhas mais solitárias, que também sentiam nos ossos e na pele a
ingratidão da velhice; mas não era de ficar à espera da morte, nunca
conhecera facilidades e talvez por isso se tivesse preparado tão bem para
enfrentar os problemas. Fora criada por mulheres de fibra, a mãe e a avó,
porque o pai embarcara sozinho para o Brasil e nunca mais voltara. Perdera
o marido ainda jovem, os filhos e os netos tinham emigrado para a Suíça, e
chegara a receber algumas propostas aliciantes para vender a loja, mas
nunca se sentira tentada a aceitá-las. Apesar de os supermercados ganharem
terreno, e os produtos parecerem mais toscos do que os das grandes cadeias,
tudo o que vendia sabia a infância, e ninguém lhe tirava o lugar. Pusera a
Mariana à frente da mercearia porque detestava vê-la desperdiçada, e na
altura todos lhe diziam que a rapariga era uma estouvada e só lhe arranjaria
problemas, mas a Glória sempre se guiara pelo seu instinto e não se
arrependia.
Já a Cremilde não gozava da mesma robustez. Além dos problemas de
saúde, tinha uma constituição débil e uma personalidade demasiado branda.
Nascera numa família de pescadores e passara por algumas privações na
vida, mas faltava-lhe determinação para lidar com as dificuldades. Quando
era nova, toda a gente reparava nela, homens e mulheres, parecia obra de
um escultor, e era dócil, mas tão ingénua que as pessoas se aproveitavam da
sua simplicidade.
As lides da pesca eram ainda mais árduas nessa altura, e ela nunca se
habituou a ver o pai e os dois irmãos entregues às inconstâncias do mar.
Sentava-se na soleira da porta com uma agonia no peito e as mãos agarradas
ao terço, até que um dia os seus medos se concretizaram. O céu enegreceu
pela manhã com um estrondo, levantou-se um vento endiabrado que causou
logo suspeitas, e o mar encheu-se de revolta. As mulheres puseram-se alerta
e correram para a praia, num frenesi, assombradas por maus
pressentimentos. Avançaram pelo areal e desafiaram as ondas, aos gritos, a
chamarem pelas embarcações que ficavam presas na rebentação. Nesse dia
registou-se uma mão-cheia de naufrágios na região, alguns barcos nunca
voltaram e a Cremilde perdeu a família. Já não era uma criança e trabalhou
muito para ajudar a mãe, até lhe chamavam «a costureirinha» porque era
desembaraçada a coser e fazia milagres com um corte de tecido. Ficou tão
ressentida com o mar que jurou à mãe que nunca se casaria com um
pescador, mas a promessa saiu-lhe cara.
Conheceu o Amílcar uns anos mais tarde, quando ajudava a puxar um
barco. Ele andava a banhos, por recomendação médica, e cobiçou-a desde o
primeiro instante. Quem o julgasse pela aparência, composto e bem-falante,
sem olhar a gastos nem a cortesias, não lhe apontaria defeitos. Era
proprietário de uma pequena fábrica têxtil no Vale do Ave, mas a sua
perdição era a pesca recreativa. Depois de meditar sobre o assunto, a
Cremilde concluiu que o passatempo era inofensivo e aceitou o pedido de
casamento. Dissipados os primeiros receios, habituou-se a vê-lo sair, ao
início da noite, para as jornadas de pescaria e, uma vez por outra, até lhe fez
a vontade e o acompanhou. Ele levava a cana, uma caixa com o isco e o
material, e punha-se no alto de um rochedo, durante horas, irredutível, ainda
que muitas vezes voltasse com a arca vazia.
Porém, certa noite, o Amílcar não voltou. Descobriram o material
abandonado numa fraga, mas já não o conseguiram resgatar. A Cremilde só
encontrou conforto na amizade da Glória; desde então tornaram-se ainda
mais próximas, como se partilhassem a mesma dor. Mesmo muitos anos
mais tarde, apanhada nas armadilhas da memória, não era raro a Cremilde
perguntar pelo Amílcar, e a Glória inventava uma desculpa e lá mudava de
assunto para não a perturbar.
A Glória abriu a porta dos fundos; o ar estava impregnado de estrume e
era quase irrespirável, mas ela não reclamava do fedor; mal o sentia.
Gostava de andar pelo quintal, cuidar dele, às vezes sentava-se e ficava só a
olhar para as flores, suas cúmplices ao longo da vida. Além de uma pequena
horta e um talhão de ervas aromáticas, que a mantinham entretida nas horas
vagas, o jardim fora-se alargando numa amálgama colorida em que
confraternizavam plantas de várias espécies e um trio melancólico de
árvores de fruto. E debaixo do coberto, junto ao antigo tanque que se
atapetara de limo, resistia um velho galinheiro, quase intacto, que fora
transformado em horto. A Glória arrumou o carrinho com os utensílios de
jardinagem e atravessou o quintal. Desenrolou a mangueira em torno da
bica e, agachando-se com uma careta de desconforto ao sentir estalar os
joelhos, posicionou-a junto ao solo para irrigar melhor as raízes. Nesse
instante, um carro de polícia abrandou junto ao portão, enquanto dois
agentes falavam entre si. A Glória largou a mangueira, levantou-se e
sacudiu as mãos na saia, expectante. Mas o carro foi-se logo embora.
Suspirou, levemente abalada. Ouviam-se, desde a véspera, as aceleradelas
para cima e para baixo e a agitação do povo a pé pela estrada fora. Ela
própria se teria juntado a eles se tivesse pernas para isso e a Cremilde não
acordasse tantas vezes desorientada a meio da noite.
Quando acabou de regar, puxou uma cadeira para se sentar e contemplou
o jardim, que resplandecia ao sol da manhã, com as gotículas de água
suspensas na ramagem.
A Cremilde acordou confusa e talvez a caixa de música lhe tivesse
reavivado a memória se a Glória não a tivesse arrumado, por não aguentar
vê-la sofrer sempre que a punha a tocar e se lembrava da Alice.
Aproximou-se ainda em camisa de dormir e passos cansados, com um silvo
que lhe arfava no peito, acomodando-se ao lado da amiga.
E assim ficaram, as duas, quietas e caladas, entre as flores.
18
Era como uma música que não lhe saía da cabeça. A Elisa dirigiu-se à
cozinha para preparar o pequeno-almoço, sem conseguir afastar a Alice do
pensamento. Ia cortando lentamente a fruta, introspetiva, havia meia hora
que estava naquilo. De vez em quando voltava-se para espreitar a filha e
retomava a tarefa com o mesmo vagar. A Clara explorava um brinquedo
musical que a mãe normalmente se apressava a esconder, para poupar os
ouvidos à sinfonia desgovernada, mas naquela manhã a Elisa não se
incomodava com o barulho nem com nada à sua volta. Tinha a filha
consigo, estavam todos bem, não precisava de mais.
O Artur encostou-se à ombreira da porta a admirá-las em silêncio. Trazia
todos os sinais de uma noite mal dormida, mas fez por espantar o cansaço e
juntou-se à brincadeira da filha. A Elisa sorriu-lhe, invejando-lhe a
disposição matinal. Era sempre assim, por mais horas que passasse em claro
de volta dos pendentes ou dos biscates.
O telemóvel tocou e o Artur afastou-se para atender. A Elisa conseguia
ouvi-lo falar na sala, mas a conversa não foi demorada.
− Quem era? − quis saber quando ele voltou.
− Um cliente.
− A esta hora? As pessoas abusam mesmo.
− Deixa lá, vale a pena, sou capaz de fechar negócio.
− Ao menos isso.
Ele aproximou-se, pegou na filha ao colo e levantou-a no ar, provocando-
lhe um riso gorgolejante. A Elisa observou-os de esguelha, acometida por
um formigueiro que não conseguia explicar. Às vezes tinha medo de que
alguma coisa lhes viesse perturbar a felicidade. A Mariana também tinha a
vida orientada, a filha ao seu lado, e, de um dia para o outro, mergulhara no
caos; era esmagador.
Laminava a fruta com uma precisão quase cirúrgica, cada vez mais
distante do que estava a fazer, a faca avançando desenfreada sobre a tábua
e, de repente, o sangue começou a escorrer pela banca e a pingar para o
chão. A Elisa nem sentiu o golpe, era como se estivesse hipnotizada. Só
despertou do transe quando o Artur se apercebeu do incidente e pousou a
filha à pressa para a ir socorrer. Num instante, abriu a torneira, meteu-lhe a
mão debaixo de água fria e depois enrolou-lhe um pano da louça no dedo,
estancando a hemorragia. De seguida, procurou atabalhoadamente
compressas e desinfetante, abrindo portas e gavetas − nunca sabia o sítio
das coisas e estava demasiado aflito para se concentrar. Ela passou por ele,
trémula, e tirou o estojo de primeiros-socorros do armário onde costumava
estar. Colocou um penso apertado na ferida, assegurando-lhe que estava
bem; apesar do cenário aparatoso, o corte era superficial. Por fim, limpou a
bancada e chamou-os para a mesa, já sem grande vontade de comer.
Estava tão pálida que o marido lhe trouxe um copo de água com açúcar
para se recompor. A Clara analisou atentamente o curativo, perguntando se
o dedo lhe doía, e a mãe disse-lhe que não, esforçando-se por sorrir. Assim
que se refez, pôs a filha no colo, encostou-a ao peito e finalmente sossegou.
– Já estou bem − assegurou ao marido −, não te empates por minha causa.
Que trapalhada – suspirou, pensando em voz alta − não sei onde ando com a
cabeça…
O Artur terminou o café e fez-lhe um carinho, preocupado, oferecendo-se
para ficar em casa por mais algum tempo, porque a mulher ainda lhe
parecia um pouco tensa. Mas ela tranquilizou-o; o ar da manhã far-lhe-ia
bem pelo caminho e não se queria atrasar, pois ia receber uma encomenda
na loja.
Ele despediu-se dela e da filha com um abraço afetuoso, e então saiu.
A Elisa levantou-se e espreitou o marido da janela. O Artur ficou um par
de segundos no passeio, de chaves na mão, a olhar para o carro, e talvez
ainda estivesse em cuidados. Entretanto, a Salomé saiu de casa com um
filho atrelado em cada mão e cumprimentou-o, bastante menos expansiva
do que de costume. A Elisa bateu no vidro para fazer sinal à amiga, e ela
retribuiu-lhe com um aceno murcho, sem mascarar o desânimo. A filha da
Salomé agarrava-se à mãe, inquieta, girando em torno dela, e nem o Artur
conseguiu arrancar-lhe um sorriso. Até as crianças andavam assustadiças.
Já estavam todos de partida quando uma carrinha branca arrancou,
mesmo à porta da Mariana, acelerando pela rua fora, mas ninguém foi a
tempo de ver quem era o condutor.
19
Começou por limpar a casa dos tios. Carregou baldes de água e lavou
armários, janelas, persianas, paredes, candeeiros e tetos. Arrastou os
móveis, tirou as teias de aranha dos cantos, trocou as colchas, escovou os
tapetes, limpou os rodapés e passou o chão a pano, de joelhos. E, quando
retornou a casa, fez tudo outra vez. Só não conseguiu limpar o quarto da
filha: abriu a porta e voltou a fechá-la, sem sequer entrar. Nos primeiros
dias, foi esse expediente que a salvou. Quando esgotou as limpezas, a
Mariana começou a fraquejar, deitou-se no sofá e ficou dois dias sem
praticamente sair do lugar, cataléptica.
Passara-se uma semana desde que a Alice desaparecera.
Por esta altura a Mariana mal se aguentava de pé. Foi perdendo o apetite;
a não ser pelo pão e pela sopa que a tia insistia em levar-lhe, mais para
manter as aparências do que por verdadeira comiseração, não tolerava nada
no estômago. Vestia a primeira roupa que encontrava, às vezes a mesma
durante dias seguidos até se sobressaltar com o cheiro do próprio corpo.
Vagueava pela rua como um fantasma e, de facto, a pessoa que era parecia
ter desaparecido. De vez em quando, ia à mercearia, mas aguentava-se lá
pouco tempo, porque a Glória desfazia-se em lágrimas sempre que a via e
as pessoas aproveitavam logo para fazer a conversa girar em torno da
desgraça.
A Judiciária continuava a dar-lhe a mesma resposta indeterminada, nada
que apontasse para uma resolução, sequer um caminho. O pai da Alice
também fora ouvido. Era um rapaz bem-parecido e educado, mas, para lá
das distrações da imagem, era possível detetar nele alguma vulnerabilidade;
no início a voz tremia-lhe e falava da filha com o desconforto de quem
abordava um assunto que lhe era estranho. Nos últimos meses tentara visitá-
la, queria conhecê-la e levá-la a ver os avós, mas a Mariana sempre lhe
pusera entraves. Porém, negou ter rondado a escola ou espiado a criança
com o intuito de a levar; tivera sempre esperança de que a Mariana mudasse
de ideias e cedesse aos seus pedidos. Foi bastante convincente; respondeu a
todas as perguntas sem hesitar e repetiu as declarações à polícia de forma
mimética. Não havia indícios concretos contra ele e, se porventura era
culpado, não havia como prová-lo.
Os jornalistas continuavam a «sobrevoar» a vila, obstinados em revirar
escombros, à caça de testemunhos, pistas, novas informações. Abancaram
junto à casa da Mariana, a ver quem entrava e saía, com o portão na mira,
em grande plano. Percorriam o trajeto para a escola, de câmaras em riste,
aventando hipóteses, como se a qualquer momento fossem resolver o
enigma. Podia ter sido ali, ou mais à frente, junto ao gradeamento,
apontavam esquinas, travessas, ruelas, eiras, olhavam em redor,
interrogando-se, ninguém sabia o momento exato, o troço do caminho,
quantos passos a Alice teria dado depois de a mãe voltar para dentro, até
que alguém a tivesse intercetado. Procuravam os melhores ângulos,
tratavam dos remendos na edição e juntavam-lhe uma música de fundo
triste, que sempre embalava as pessoas à hora do jantar, quando a
reportagem passasse na televisão.
E, de tanto cercarem os residentes, os jornalistas lá lhes foram arrancando
um ou outro comentário. O Coxo foi dos primeiros a falar, insistindo em
que o operador de câmara filmasse o letreiro do talho, por causa da
publicidade, e houve mais gente em busca de protagonismo. Nem os mais
reservados resistiram à pressão. Alguns foram praticamente encurralados: a
Salomé, o Artur, o pai da Alice, até o Jeremias e o padre, e nem o António,
que fugia dos repórteres como de uma praga, se livrou de responder a umas
perguntas. Só a Mariana se mantinha em silêncio.
Continuava a dar voltas, desde cedo, à procura da filha. Quando se
acercou da casa do Jeremias, um gato vadio atravessou-se-lhe no caminho e
pulou o muro, esgueirando-se por entre as ervas daninhas que estorvavam a
entrada. A Mariana reparou na carrinha estacionada à porta, já a vira
noutras ocasiões, mas só lhe suscitou interesse depois de ouvir os boatos
que ecoavam pela vila sobre a Alice ter sido levada numa carrinha branca.
Contornou a viatura e observou cuidadosamente o interior pelo vidro; se ao
menos houvesse um sinal, um brinquedo, um sapato, um elástico do cabelo
caído no tapete, algo que pudesse reconhecer, mas não havia nada à vista.
Olhou à sua volta, e ninguém, a casa no abandono de sempre. Empurrou o
portão e aproximou-se. Limpou a poeira da janela com a palma da mão e
espreitou, mas estava tudo na penumbra. Sentiu um arrepio na espinha e
afastou-se depressa, garantindo a si mesma que os fantasmas não existiam;
só nos filmes, nos livros, nas histórias de terror.
Já ia longe quando o Jeremias abriu a porta, e, por isso, não o viu meter,
com algum custo, uma carpete enrolada como um canudo na bagageira,
antes de sair à pressa.
O pai da Alice foi ter com ela, ao entardecer, disposto a ajudar e na
esperança de acabarem de vez com os desentendimentos. Tinha tanto para
lhe dizer. Desculpar-se pela forma leviana como a deixara, renunciando às
responsabilidades; por ter negligenciado a filha durante anos que jamais
poderia recuperar; desperdiçado aniversários e Natais e todas as pequenas
coisas que só tinham uma primeira vez. Dizer-lhe que lhe parecia ter
perdido algo que não supunha ter e que, apesar dos erros, se atrevia a
imaginar uma ínfima parte do que ela estava a sentir, sobretudo porque vira
uma fotografia da Alice – os inspetores puseram-lha à frente como uma
afronta – e depois disso o mesmo retrato perseguiu-o durante toda a viagem
até casa dela, nos panfletos gritantes afixados nas montras, nas casas, nos
candeeiros de rua, nas árvores do parque infantil, alguns até serpenteavam
pelo chão como folhas no outono, acusando-o
Abandonaste-a.
Abandonaste-a e agora desapareceu.
Achava que ela tinha os olhos dele, talvez o sorriso, gostaria tanto de lhe
ouvir a voz. Sem que pudesse explicar porquê, começara a sentir a sua falta.
Estacionou a carrinha longe da entrada para não se denunciar e, enquanto
caminhava, ia ensaiando o texto, medindo as palavras, antevendo os
argumentos. Era compreensível que a Mariana lhe guardasse ressentimento;
iria revoltar-se, talvez insultá-lo, mas estava decidido a suportar o que fosse
preciso para se fazer ouvir. Acendeu um cigarro, mas deitou-o fora antes de
chegar. Tocou à campainha e meteu as mãos nos bolsos, tentando controlar
o nervosismo.
Ela recebeu-o embrulhada num roupão encardido, com o cabelo em
desalinho, olhos de quem não via o sono há sei lá quantas noites, sem
mostrar surpresa nem qualquer reação que se decifrasse. Permaneceu uns
segundos a olhar para ele, em silêncio.
E depois afastou-se para o deixar entrar.
A Josefa ia a caminho do enterro do farmacêutico quando viu o rapaz
dirigir-se a casa da sobrinha e ficou atenta. Resguardou-se numa esquina e,
quando ele entrou, deu meia-volta, cismada.
O seu instinto estava certo, afinal: que mais lhe andaria a esconder a
Mariana?
20
Afugentou as velhas que cercavam a viúva num coro de lamentos e
abandonou o cemitério, em passos zangados, a meio do funeral. Embora
lamentasse a morte do farmacêutico, que sempre fora um benfeitor, não era
esse o motivo do seu desassossego. Deu voltas pela rua, de saltos a estalar
na calçada, sem conseguir pôr as ideias no lugar. Até que se decidiu.
Quando entrou em casa, ao fim de meia hora, o padre não estranhou o
facto de encontrar a Josefa ali parada, com o serviço empatado. Era uma
mulher forte, mas os enterros empurram-nos para reflexões inesperadas e
era aceitável que tivesse tido um momento de fraqueza. Ainda tentou meter-
lhe as mãos debaixo da saia e puxá-la para a cama, como de costume, mas
só então se apercebeu de que a casa estava de pantanas; gavetas fora do
lugar; armários escancarados; roupas empilhadas na cama. Mas nem essa
inusitada desordem lhe causou mais alarme do que a amargura que
transparecia nos olhos dela. Reconheceu-a com surpresa, como se a
despisse pela primeira vez.
Enquanto consolava a viúva, a Josefa ficara a par da extrema-unção que o
padre dera ao farmacêutico, e a história que ouviu não casava com a versão
que o amante lhe contara. Parecia uma falha insignificante, o homem estava
para morrer e pronto, tanto dava receber o sacramento a uma segunda como
a uma quinta, mas ela peneirou bem os factos e confrontou-o, de dedo
apontado:
– Mentiste-me.
O padre refutou, empurrou as culpas para a viúva, que certamente se
confundira na data, ou o desgosto lhe toldara a razão. Mas a Josefa
prosseguiu, armada de testemunhas, porque o filho da viúva estava
presente, bem como os vizinhos do lado, e até a peixeira vira entrar o padre.
Não restavam dúvidas de que lhe mentira. Ele tentou disfarçar o embaraço,
coçou a orelha, tropeçou nas palavras, bem vistas as coisas tanto podia ter
sido num dia como noutro, tanto fazia, a cabeça já não funcionava como
antigamente; mas a Josefa conhecia-o suficientemente bem para perceber
que ele se sentia encurralado. Exigiu explicações, provas do que ele fizera
naquela manhã precisa, já que não estava com o moribundo, nem na igreja,
nem em casa, nem em nenhum local onde o tivessem visto. Porque podia
dar-se o caso de ser uma confusão, um mal-entendido, uma mentira sem
importância, quantas haveria pelo meio, que ela até passaria ao largo se
tivesse sido noutra altura qualquer.
Mas não no dia em que a Alice desaparecera.
A desconfiança criou um fosso irreparável entre eles.
O sol foi-se apagando num rasto alaranjado e a Josefa retornou a casa,
mergulhada numa dúvida aterradora. O padre não era nenhum santo e o
celibato nunca o impedira de andar com ela. A sua conduta estava a milhas
do que pregava fervorosamente do púlpito. A Josefa tinha consciência dos
seus erros, havia anos que se penitenciava sem, contudo, conseguir pôr
termo à relação, mas daí a supor que ele fosse capaz de tocar em crianças
era outra história. Mesmo que não encontrasse motivos para suspeitar dele,
nenhum indício, nenhum rumor, nenhum olhar estranho para os meninos da
catequese nem festinhas libidinosas aos escuteiros, os escândalos de
pedofilia na Igreja não eram novidade, tanta gente a fazer de conta que não
via nada, tantas vozes caladas, e quando as notícias rebentavam já era tarde.
As hipóteses estavam todas em aberto.
Até ao momento, só lhe ocorrera culpar a sobrinha, que considerava
medíocre em tudo, e tinha para consigo que ela sabia mais do que dizia.
Sobretudo agora, que a apanhara de conluio com o pai da criança, apesar de
ter sempre dito tanto mal dele. Mas, depois de ser confrontada com as
intrujices do padre, balançou na dúvida.
Também não compreendia por que razão o professor fora libertado de um
dia para o outro; e, embora a polícia não revelasse nada, muita gente
acreditava piamente que ele tinha algo a esconder. A Alice até podia ter
sido levada por um estranho; a maioria partilhava dessa convicção, por
ingenuidade ou arrogância, mas a Josefa ouvira dizer que os culpados eram
quase sempre pessoas próximas das vítimas, às vezes da própria família.
A efervescência foi aumentando com as incertezas.
Até o marido andava com uns modos estranhos: sempre fechado na
oficina sem mexer um dedo; entradas e saídas a meio do dia ou da noite;
aquele ar de quem traz qualquer coisa entalada. E a sua angústia seria ainda
maior se soubesse que ele saíra naquela manhã para trabalhar, mas nunca
chegara a aparecer na obra.
21
Uma talhada da lua ocupava sorrateiramente o céu e os candeeiros
plantados nos passeios iam retomando a vigília branda do anoitecer. A rua
estava quase deserta, calada, nem os cães ladravam. O presumível rapto da
Alice deixara as pessoas mais desconfortáveis do que o sopro gélido que
vinha do mar e a tensão estalava à superfície: sobressaltavam-se por tudo e
por nada; davam voltas às fechaduras; corriam as persianas até não sobrar
uma frincha por onde escapasse um fio de luz.
O professor voltava para o pequeno armazém onde pernoitava, arrastando
por entre as falhas da calçada um carrinho de compras que a Isaura lhe
enchera de sobras na tasca. Pelo caminho, cruzou-se com o dono do talho,
que lá ia a mancar de cigarro na mão, remoendo qualquer coisa que não se
percebeu, e fez de conta que não o viu. Uns metros à frente, encontrou mais
dois homens que o evitaram como se tivesse a peste. Conhecia um deles
desde miúdo, na altura em que jogavam à bola nas traseiras da igreja e no
descampado onde mais tarde construíram o parque infantil. A afinidade
fora-se esgotando com o tempo e as diferenças, mas, de vez em quando,
encontravam-se na tasca ou no quiosque onde o professor ia acompanhando
as notícias pelas capas dos jornais e trocavam duas palavras apressadas;
quase sempre as mesmas, daquelas que não alargam a conversa. Mas o
professor não se melindrou com a reação dele.
Tinha acabado de levar a mão ao bolso para tirar a chave do armazém
quando deu com a fechadura do abrigo arrombada. Empurrou a porta com a
ponta dos dedos, avançou dois passos e olhou em redor, certificando-se de
que não estava ninguém lá dentro. Toda a cautela era pouca; ninguém
ganharia nada em roubar-lhe os trapos ou as conservas que a Glória lhe
mandava, mas devia haver muita gente com vontade de lhe dar um corretivo
depois de o terem apanhado com a mochila da miúda. Não era a primeira
vez que os jornalistas o cercavam com perguntas ou o espiavam pelas
janelas à cata de indícios, e a gente dali também não lhes ficava atrás.
Mesmo estando resolvido com a polícia, o professor sabia bem daquilo que
as pessoas eram capazes.
Porém, salvo umas caixas deixadas fora de sítio, estava tudo
aparentemente no lugar devido.
Encontrou o gatinho enroscado numa camisola de lã comida pelo borboto
e suspirou de alívio. Na cabeceira do colchão onde dormia erguia-se uma
parede forrada a desenhos e redações que as crianças lhe tinham dado e ele
colecionava como se fossem obras de arte. Ao longe pareciam meros
gatafunhos, montanhas de letras, mas guardava-os como lembranças
preciosas. Só então reparou na folha que se desprendera e caíra ao chão.
Agachou-se para a apanhar, sacudiu-lhe o pó e voltou a pô-la no sítio,
afastando-se ligeiramente para a admirar, enternecido. Era um desenho feito
pela Alice. Na ilustração cuidadosamente pintada com canetas de feltro
aparecia uma menina a andar de balouço e, num banco de jardim mais à
frente, um homem lançava uma baforada desproporcional de fumo para o
ar.
O professor tirou os sapatos e deixou-se cair no colchão vestido,
cobrindo-se com o lençol que a Isaura ia mudando a cada semana, porque
costumava dizer que ninguém merecia viver na imundície. A amiga não
olhava a trabalhos quando ajudava alguém e era das poucas pessoas com
quem ele ainda podia contar.
O professor não se aborreceu muito com o estranho arrombamento; era
uma migalha entre tanto que já lhe acontecera. Podiam vir os jornalistas e a
população em peso que não encontrariam nada que o incriminasse. Pelo
menos, assim julgava.
Curiosamente, naquela noite dormiu tranquilo, ridiculamente feliz, a
pensar na última vez em que se cruzara com a Alice, a caminho da escola.
22
A Elisa acordou a meio da noite, agitada, e, quando se virou para o lado,
não viu o marido. Foi à procura dele e encontrou-o no quarto da filha,
debruçado sobre a cama.
– Que foi?
– Nada, está tudo bem – ele tranquilizou-a, aconchegando a pequenina. –
Pareceu-me ouvi-la chorar, mas deve ter sido um sonho.
Voltaram então a deitar-se. A Clara dormia profundamente e pairava
sobre a casa um silêncio libertador. A Elisa acomodou-se, ensonada, mas o
Artur ainda ficou acordado. Sempre que pensavam na Alice, aumentavam
as preocupações com a Clara por parte de ambos. Jamais deixariam que lhe
acontecesse algum mal.
Antes de ir trabalhar, o Artur passou no quiosque para comprar o jornal,
onde o desaparecimento da Alice ainda era notícia, e aproveitou para ir à
tasca. À chegada, distribuiu cumprimentos e escolheu um lugar ao balcão,
entre o dono do talho e o empregado. Habituara-se a pedir simplesmente um
café depois de perceber que o olhavam de lado por dizer bica e, ainda mais
de lado, quando por graça se atrevera a pedir um cimbalino. Folheava as
primeiras páginas do jornal quando apanhou a conversa acesa que o Coxo
mantinha baixinho com um amigo ao seu lado.
– Estou pasmado! Nunca pensei que o mandassem embora depois de o
terem apanhado com a mochila da catraia. Estes gajos da polícia só fazem
merda, é o que é. – E perante a aprovação do outro, acentuou: – Só fazem
merda. – Virando-se para o Artur, deu-lhe uma palmada conivente nas
costas, perguntando-lhe: – Você estava lá quando apanharam o professor,
não estava?
– Sim, por acaso estava – concordou o Artur, pouco à vontade,
bebericando o café que a Isaura entretanto lhe pôs na frente.
O outro interlocutor olhou para o relógio e despediu-se à pressa, o que
mais pareceu ao Artur um pretexto para se livrar do talhante. Mas o Coxo
estava demasiado inflamado para desistir do assunto tão facilmente.
– E não acha estranho que o deixem à solta? – insistiu.
– Se calhar – reconheceu o Artur, sem investir na conversa.
– Pois, ouça bem o que lhe digo: o gajo está metido nisto até ao pescoço,
não tenha dúvida – profetizou, apontando o dedo ao Artur. – Ninguém me
atira areia para os olhos – declarou com petulância, procurando os cigarros
às apalpadelas no bolso. – Vê-se logo que há ali marosca.
O Artur calou-se, um pouco constrangido, olhando em redor para ver se
alguém os escutava, mas a Isaura afastara-se e o empregado do talho não
mostrava interesse na conversa deles. Devolveu a atenção ao jornal,
percorrendo os cabeçalhos, mas o Coxo não o largou.
– Estes tipos são cheios de truques – prosseguiu embalado no monólogo.
E, deixando escorrer um fio de voz, inclinou-se sobre o Artur, como se
partilhasse um segredo: – Mas se o apanho a jeito…
O Artur compreendeu o desabafo; não faltava quem quisesse deitar as
mãos ao homem.
Com ar de entendido e um cigarro por acender na mão, o Coxo apontou-
lhe as suas versões do que acontecera: o mais certo era que o professor
tivesse vendido a miúda por meia dúzia de tostões, para sustentar o vício do
jogo, ou que a mantivesse nalgum esconderijo longe dali. Mas, se
procurassem bem naquele pardieiro onde ele dormia, ainda haviam de
encontrar vestígios da depravação do canalha. Não devia faltar gente
disposta a dar-lhe uma lição e, se o apertassem, talvez ele contasse a
verdade.
– É capaz – ponderou o Artur, sem se empenhar muito.
O Coxo concluiu as conjeturas com um sussurro indecifrável à altura do
secretismo da conversa. Estava mesmo à espera de que a oportunidade lhe
caísse em cima. Olhou para o empregado, de soslaio, mas o homem
continuava de cara fechada e, se ouvira alguma coisa, fez de conta que não.
O Artur terminou o café já frio e despediu-se do talhante com um aperto
de mão e acenos em redor. A Isaura olhou para eles de viés, estranhando-
lhes os cochichos, mas acabou por desvalorizar a situação.
Dirigindo-se à porta, o Coxo acendeu finalmente o cigarro que trazia nos
dedos, para evitar os reparos da Isaura, e ali ficou até que a última nuvem
de fumo se desvanecesse.
Qualquer outra aposta seria arriscada, mas não o professor. Tornara-se um
indigente e, por muito que se defendesse, tinha a reputação manchada. O
Coxo não precisava de se esfalfar para persuadir os outros. Na verdade, eles
só estavam à espera de uma razão, do momento certo, de alguém que lhes
desse um empurrãozinho. Aquela gente tinha pavio curto. O preconceito e a
soberba já lá estavam, só faltava atear o rastilho para se tornarem uma força
destrutiva. Porque, apesar de a polícia ter deixado o professor em liberdade,
olhavam em redor e não viam mais ninguém capaz de ter cometido o crime.
Demorou apenas algumas horas.
Os homens andavam tão aferroados que nem precisaram de argumentos
para se decidirem. A rebelião começou a ganhar forma e chegou logo aos
ouvidos do António, que, no início, vacilou. Custava-lhe acreditar que o
professor fosse capaz de ter feito mal à sobrinha-neta ou a qualquer outra
criança, mais parecia uma mentira deslavada, mas andava tão fora de si que
se deixou corromper pela dúvida. Já nem o trabalho o encorajava,
ultimamente só ia à obra de passagem, para distribuir ordens e reprimendas,
e passava-se muito tempo sem que soubessem dele. Chegava a casa
desfalecido, com um farfalhar no peito, empurrava o prato para o lado mal
se sentava à mesa, e a tristeza era tão grande que o acompanhava para todo
o lado.
As pessoas estavam elétricas com o desaparecimento da miúda e não
descansavam enquanto não desancassem alguém.
E, por isso, o professor, que tinha tão mau aspeto,
e sempre se mostrara afável com as crianças,
só podia ser o culpado.
As suspeitas levantaram fervura num instante. Falaram uns com os
outros, em segredo, e no final do dia juntaram-se no largo da igreja para
trocar palpites e combinar a ofensiva, não fosse uma das mulheres
aperceber-se das suas intenções e estragar-lhes os planos.
Encontraram-no no armazém onde dormia. O professor nem teve tempo
de se aperceber da ameaça. Foi surpreendido por dois brutamontes que
entraram a pontapé, reconhecendo-os logo: pais de antigos alunos, com
quem confraternizava em jantares e festas da escola. Vasculharam-lhe os
pertences, três caixas de cartão que conservava com ele e um carrinho de
compras com comida. Não tinham muito por onde procurar, e não tardaram
a descobrir umas cuecas de criança, com lacinhos cor-de-rosa, escondidas
numa daquelas caixas. Agarraram nelas e ostentaram-nas no ar, coléricos,
sentindo-se legitimados. Ele garantiu que nunca as vira nem fazia ideia de
onde tinham vindo e que qualquer um lá podia ter entrado porque, na
véspera, se deparara com a fechadura arrombada. Repetiu-o várias vezes,
confuso e aterrorizado, mas ninguém acreditou.
A ideia inicial era apenas confrontá-lo, pregar-lhe um susto, dar-lhe uns
abanões valentes para o obrigar a confessar o que fizera à criança. O Coxo
apostara que bastava mandar-lhe um berro para o pôr na ordem, porque o
homem era fraco e não tinha quem viesse em sua defesa. Mas no momento
ficaram cegos de raiva e não houve margem para delicadezas. O primeiro
deu-lhe um soco que o derrubou logo e, quando o viram caído no chão,
frágil e descomposto, tornou-se fácil subjugá-lo. Cercaram-no,
abestalhados, e, como uma matilha voraz, espancaram-no a murro e pontapé
e acertaram-lhe com o que encontraram a jeito; um deles apanhou uma
tábua e deu-lhe com ela na cabeça até ver o sangue jorrar. E podiam ter
parado, nessa altura em que o chão se começou a tingir de vermelho, um
borrão sangrento alastrado pelas pegadas deles, mas não pensavam, não se
comoviam com súplicas, não sentiam nada. Nenhum deles sequer ligou aos
desenhos colados na parede – e estariam lá alguns feitos pelos seus próprios
filhos.
E ele cada vez mais distante do senhor professor, já nem um homem, um
ponto minúsculo no meio deles. Os atacantes eram muitos e ele demasiado
frágil para rebater. Ainda que lhe sobrassem forças para se defender,
descera tão fundo que lhe parecia impossível levantar-se. Num impulso,
esticou a mão para alcançar o pulôver onde acomodava o gato, a única
companhia que lhe restava por aqueles dias, e debruçou-se sobre ele para o
proteger. Já causara muitos prejuízos, alguns irreparáveis, arruinara-se,
destruíra a família, perdera-se, e não era a primeira vez que se via às mãos
de um cobrador furioso, mas de todos os males que fizera na vida nenhum
se comparava com aquele de que o acusavam. Não lhe saía da cabeça a
história da Alice, poderia ter sido um dos filhos, o mais novo tinha quase a
mesma idade, só de pensar nisso ficava agoniado; e, quando se lembrava
dela, naquele último dia em que a vira, tanta tristeza. A polícia não tinha de
que acusá-lo e mandara-o embora, mas o professor sabia que nem assim as
pessoas se convenceriam da sua inocência. E até entendia que duvidassem
dele, não seria de esperar outra coisa, porque às vezes olhava para si mesmo
e não via senão um vadio que não tinha onde cair morto.
Pensou que eles se cansassem, que em minutos estivesse tudo acabado e,
por fim, lhe dessem paz, mas de repente um dos homens avançou sobre ele,
endemoninhado,
– Confessa o que fizeste à miúda, filho da puta!
E o seguinte baixou-se para lhe sussurrar com voz de bagaço, os beiços
pegajosos a roçarem-lhe a orelha.
– Gostas muito de criancinhas, não é?
antes de o agarrar pelos testículos, insistindo,
– Não é, não é?
O António nunca fizera mal a ninguém, nem quando se embebedava
levantava a voz para destratar fosse quem fosse, mas estava lá no meio,
cego como os outros, ofegante, alucinado, consumido por uma labareda.
Apesar do temperamento calmo, andava fora de si. E, no início, só trazia no
pensamento a Alice e o seu misterioso desaparecimento,
– Conta-me o que lhe fizeste, monte de esterco!
que o deixavam atormentado, revoltoso, mas a determinada altura um
torvelinho de razões levou-o a explodir. Acercaram-se as fraquezas, as
inseguranças, os mexericos sobre a Josefa e o padre, imaginou os dois
metidos na cama, tanto amor para quê; a sepultura do filho, fria, por visitar,
a cobrir-se de musgo; uma dor à traição que começou por não ser nada, um
papel nas mãos e ele incrédulo, não pode ser, porque guardava aquela
estranha sensação de estar a sonhar. E, quando deu o primeiro murro ao
professor, a Alice, quando lhe acertou o segundo, a Alice, o padre com as
calças pelos tornozelos e a Josefa de pernas abertas para ele, o riso dos
outros em redor, o resto da vida uma ilusão, pensou em tudo, menos no
homem que tinha à frente.
Ao chegar a casa, o Artur avistara um novelo de indivíduos a caminho do
armazém e desviara-se, com discrição, para evitar juntar-se ao motim.
Aquela gente era temperamental, agia de cabeça quente e não estava para
brincadeiras, mas, se encostassem o professor à parede, talvez viesse dali
algum bem.
Entrou e deu um beijo à mulher, perguntando como lhe correra o dia, mas
não lhe falou da confusão que fermentava lá fora. A Elisa não tolerava a
hostilidade, embora fosse capaz de tudo para proteger a filha. O Artur
chamou a Clara, anda cá, meu amor, apertando-a contra si: era o seu maior
tesouro e não se via sem ela.
Mais tarde, quando terminava de contar à filha uma história de embalar, o
pensamento voou-lhe para longe. Imaginou o professor nas mãos do bando
de justiceiros, calculando que lhe dessem uns safanões e virassem costas.
Não supunha que o mal plantado crescia desgovernadamente e
transformaria cada um daqueles homens para sempre. Todos eles pontos
minúsculos quando regressassem a casa.
Fez um carinho à filha, que entretanto caíra no sono, e ficou a vê-la
dormir.
23
Uma das ajudantes do padre deparou-se com o portão entreaberto, ao
raiar da manhã, quando vinha deixar um saco de fruta, mas não se
surpreendeu, porque o professor nem sempre chegava nas melhores
condições e na arrecadação não havia nada que valesse a pena roubar. A luz
do dia ia entrando devagar, compadecendo-se, e no início a mulher pensou
que ele adormecera no cimento, embriagado, ou caíra do colchão; mas,
quando se aproximou, encontrou-o inanimado, num lastro de sangue, com o
gato aninhado numa camisola velha ao seu lado. Impressionada com o
cenário, pegou no telefone e chamou logo uma ambulância.
O professor levara uma grande tareia e, embora o resultado pudesse ter
sido pior, não se livrou de partir uma costela e amealhar uma coleção de
chagas duradouras.
E, no entanto, havia nele uma estranha serenidade.
Quando no hospital lhe perguntaram o que se passara, disse que não se
lembrava. Encolheu os ombros, com descaso, estava habituado aos
sobressaltos. Não era raro acordar sem se lembrar do que acontecera na
véspera e dizia que não fazia ideia do que sucedera para ter ficado naquele
estado. Talvez tivesse caído na calçada e batido com a cabeça, pressupôs,
peneirando as hipóteses. Obviamente não fora um assalto, mas a miudagem
ruim divertia-se a tratar mal os sem-abrigo, era uma vergonha, ou podia ter
sido retaliação por causa de alguma dívida de jogo antiga, adiantou, não era
a primeira vez que andavam atrás dele.
Eram tantas as possibilidades que bastava escolher uma.
Ninguém sabia que aquela falta de memória, tão oportuna, era um ato de
caridade. Ao contrário do que sustinha com uma determinação férrea, o
professor lembrava-se muito bem do que se passara na noite anterior.
Perdera num jogo de cartas, a feijões, na tasca, depois bebera um copo,
comera uma isca de bacalhau tão estaladiça que lambera os dedos, e voltara
para casa. Apeteciam-lhe mais uns tragos, mas faltava-lhe dinheiro para
comprar outra garrafa e custava-lhe estar sempre a abusar da generosidade
da Isaura.
E por isso sabia.
E por isso era incapaz de se esquecer.
Poderia identificar cada um que entrara pelo armazém adentro. Poderia
contar quantas vezes pronunciaram o nome da Alice, dezenas, mais,
centenas, enquanto um deles grunhia, gostas de criancinhas, não é?, não é?,
e ele a negar, a tentar negar, mas já sem conseguir defender-se, a ganir das
dores e da humilhação. Poderia descrever o que sentira de cada vez que o
esmurraram e pontapearam sem contemplações, não apenas o sofrimento
físico, mas uma certa angústia, alguma desesperança. Poderia relatar tudo
aos médicos e à polícia em detalhe, para que se fizesse algum tipo de
justiça; qualquer outro, no seu lugar, não hesitaria em denunciá-los. Mas
não o fez. Conhecia todos aqueles homens havia anos, e não eram maus,
porventura ignorantes e orgulhosos, mas estavam tão revoltados com o
desaparecimento da criança que tinham endoidecido. A raiva era perigosa,
material inflamável, consumia as pessoas como se fossem achas. Mas,
apesar de tudo o que o professor esbanjara, talvez mantivesse alguma
nobreza de caráter intacta.
A Isaura confrontou o António logo de manhã, mal teve conhecimento da
situação, e as suas palavras crivaram-se que nem farpas na cabeça dele:
– Foram vocês que o puseram naquele estado, não foram? – E, sem
esperar resposta, apontou-lhe o dedo, resoluta: – Foram vocês.
O António calou-se, incapaz de arranjar desculpas, porque, aos poucos,
começava a despertar do que fizera como de um sonho a que não queria
voltar.
Não se conformavam com o facto de a polícia ter mandado o professor
embora depois de o interrogar e, por mais que deitassem à sorte, jamais
adivinhariam o paradeiro dele na manhã em que a Alice desaparecera. Mas
a Isaura resolveu o mistério naquele preciso instante. Ficou tão indignada
que se deixou de reservas e revelou a verdade ao amigo: dormira com o
professor e estavam juntos no começo daquela manhã infeliz. Oferecera-lhe
a sua casa para ele tomar um banho e pôr um ar mais decente, só isso, mas,
sabe-se lá porquê, acabaram na cama. Quando as suspeitas recaíram sobre o
professor, contou tudo à polícia e também já não lhe fazia diferença que as
pessoas soubessem.
O António ficou tão atrapalhado que quase lhe faltou o ar. Saber que,
além de um crime, tinham cometido uma tremenda injustiça, deixava-o
ainda mais enojado com os seus atos. A vontade de encontrarem um
culpado era tanta que fizeram do homem um bode expiatório.
Horas mais tarde, andava para a frente e para trás no corredor do hospital,
cabisbaixo, apagado como as paredes. Foi o único que visitou o professor,
ninguém mais teve coragem ou humildade para o fazer, mas a ele os
remorsos não davam descanso. Afastadas as suspeitas iniciais, começou
inclusive a pôr em causa a autenticidade das provas encontradas. O
professor ficara boquiaberto quando lhe mostraram as cuecas, como se as
visse pela primeira vez: nenhum desconforto, nenhum sinal de culpa ou
vergonha, e só um inocente levaria uma surra daquelas sem sucumbir a uma
confissão. Tinham-lhe tirado o emprego por maldade, porque, em rigor, não
houvera queixas, pelo contrário, os alunos tinham ficado desolados quando
ele se fora embora; continuavam a levar-lhe composições e desenhos, e
nunca se descobriu nada que comprometesse a sua conduta. O António
matutou sobre o assunto e começou a achar que estava tudo tão bem
montado que mais parecia uma conspiração ou, pelo menos, um grande
azar.
O talhante encarregou-se de espalhar a notícia de que o professor estava
amnésico, não se lembrava minimamente do que acontecera na véspera, e a
maioria respirou de alívio e esfregou as mãos de contente. Mas o António
não se absolveu com tão pouco. O facto de a agressão passar impune não o
ilibava de responsabilidades, nem apagava o peso que trazia na consciência.
Veio-lhe à lembrança o ódio que se criara dentro dele, a violência
inexplicável, e pareceu-lhe sentir os murros que dera ao professor
desferidos em si mesmo, fulminantes, a ferrarem-lhe o peito, as costelas,
todos os ossos do corpo; a dor não se esgotava.
Entrou na enfermaria e pousou uma caixa de doces em cima da mesa;
sentira-se na obrigação de trazer alguma coisa, e os bolos eram uma
idiotice, pensou nisso assim que os comprou na loja da Elisa, mas não lhe
ocorreu mais nada. Era um sacrifício olhar para o professor, ali deitado,
ferido, vulnerável, sabendo que a culpa era sua. Enfiou as mãos nos bolsos,
embaraçado, sem saber por onde começar. Pensou em várias palavras,
nenhuma à altura da ocasião, deu uma tossidela, desviou o olhar.
O professor abriu os olhos logo que o ouviu entrar. Naquele momento, o
António não viu nele o mendigo que costumava vaguear pela rua, nem um
camarada de copos, mas sim o homem que espancara desalmadamente e
sem motivo. Por isso, fez a única coisa honrada que lhe restava. Acercou-se
da cama e pediu-lhe perdão, consciente daquilo que estava a assumir. E
chorou, sem se envergonhar, pois por fim via tudo claramente. O professor
ergueu o braço como se carregasse vigas de ferro, apertou-lhe a mão,
primeiro frouxo, depois firme, era estranho que lhe sobrassem forças depois
da sova que apanhara, e o António correspondeu, mais frágil, mais caído,
também ele a mendigar qualquer coisa que perdera algures.
*
Ninguém esperava, mas a vila voltou a estremecer antes do final do dia.
Dois rapazes brincavam com um barco telecomandado na quinta quando
detetaram um vulto no fundo do reservatório agrícola. Saíram de lá a correr
e chegaram a casa, apavorados. Não se soube ao certo quem disseminou o
rumor, alguém começou a dizer que tinham encontrado um corpo no tanque,
e o Coxo apressou-se a partilhar a notícia, por entre os frangos amontoados
na vitrina do talho.
Bastou que se falasse em cadáver para que toda a gente se arrepelasse.
Ninguém teve coragem para alertar a Isaura e muito menos a Mariana.
Quando o burburinho chegou aos ouvidos da Josefa, com o rigor de uma
morte consumada, já as gentes se atropelavam num zunzum rumo ao local,
como moscas.
A Mariana estava a atravessar a rua quando se apercebeu do alvoroço.
Vinha lívida, trôpega, com as roupas a sobrarem-lhe no corpo. As pessoas
desviaram-se, evitando preocupá-la, mas ela leu nas suas caras o
desconforto, o medo, e calhou alguém se descair:
Aconteceu uma desgraça, Deus nos valha.
Há quantos dias ela tão perdida, e Deus nem uma nem duas, como se não
fosse nada com ele.
E, mesmo descrendo do que se apregoava, foi na cauda da multidão.
Assim que os primeiros curiosos assaltaram a quinta, o caseiro ficou ao
corrente do boato e ofereceu-se para esclarecer a situação. O filho dele foi
na frente, saltaricando, e os outros acompanharam-no, num cortejo, até ao
reservatório em pedra por detrás do casarão. O caseiro apagou o cigarro que
se sumia no canto da boca com uma calcadela na terra e levantou a mão
para guardar distância. As pessoas obedeceram-lhe, contrafeitas, mantendo-
se atentas a cada gesto. Depois de arregaçar as mangas da camisa, pegou
numa vara comprida e mergulhou-a, agitando as águas com movimentos
circulares. A multidão observava-o, ansiosa e estarrecida, como se assistisse
a um filme de suspense, tão silenciosa que só se escutava o vento a roçar
nas ramagens. O caseiro ajoelhou-se no terreno e debruçou-se sobre o
tanque, com uma expressão intrigada. Meteu o braço na água, empurrando a
vara para o fundo, e detetou algo entalado numa reentrância. Insistiu, com
dois movimentos bruscos, até que sentiu o vulto deslizar, soltando-se da
pedra. O corpo veio finalmente à tona.
24
As duas viúvas estavam na mercearia quando se aperceberam do furacão
de gente que se deslocava para a quinta. A Glória pendurou as tranças de
cebolas no gancho do balcão e espreitou por entre a cortina de fitas na
porta. A padeira despregou-se da multidão para a pôr ao corrente, entre
duas fungadelas da sinusite, e depois deu uma corrida para alcançar os
outros. Já ninguém falava da morte do farmacêutico, o assunto fora
enterrado com ele, e talvez também fossem arrumando a Alice num
cantinho da memória se não se tivesse feito sentir esta detonação.
A Glória voltou para dentro e entrelaçou as mãos, reservando o
sofrimento só para si. Mas a Cremilde agitou-se, ainda que mal tivesse
escutado a conversa. Bastava falar-se na Alice para ela ficar uma pilha de
nervos, pois, no seu íntimo, sabia que alguma coisa de mal lhe acontecera.
Por vezes, era como se a Cremilde percorresse um labirinto: entradas
duvidosas, caminhos intricados, becos sem saída; por mais voltas que desse,
não chegava a lado nenhum. A memória começava a esfarelar-se, e eram
cada vez mais frequentes os dias em que confundia pessoas, coisas e locais.
Numa manhã de desvario, abrira as gavetas da cómoda, reunira alguns
pertences numa mala, e teria andado de porta em porta se a Glória não a
tivesse encontrado a tempo.
Mas, embora se sentisse cada vez mais desorientada, nos momentos de
lucidez a Cremilde recordava-se claramente de certas pessoas e resgatava
lembranças do passado como uma chuva de meteoros.
Aquele era um dia desses.
E, por isso, chegaram-lhe primeiro as saudades. Da casa onde morava, do
cheiro a peixe entranhado na roupa e nas mãos que já não cheiravam a nada,
não lembravam nada, porque a desmemória é, de certa forma, asséptica. Da
azáfama na lota, com as peixeiras a esgoelarem-se em pregões de uma
pescada «bibinha»; do vozeirão agreste dos pescadores; da força de braços
que puxava os barcos para terra. Da juventude que lhe desentorpecia as
pernas, agora dois canos enferrujados; dos filhos que quis e nunca teve
porque o corpo se negou; de reconhecer-se ao espelho e dar valor ao tempo;
de saber caras e nomes e para que serviam os objetos mais corriqueiros,
porque às vezes olhava para o pente sem saber o que fazer dele; dos dias em
que não precisavam de a mandar tomar banho ou vestir-se, porque já se
esquecia de o fazer, atrapalhava-se com mangas e botões, ou deixara de ver
qualquer significado nas rotinas. Saudades de ter saudades, porque um dia
cairia tudo no esquecimento e já não sentiria falta de nada.
Mas se, por um lado, estes breves clarões da memória lhe traziam umas
parcas alegrias, por outro, reavivavam chagas antigas. Se pudesse escolher,
a Cremilde apagaria boa parte do passado.
Esquecer-se-ia de vez.
O Amílcar encantou-a com delicadezas e promessas, mostrou-lhe a
felicidade como se fosse uma certeza, mas o casamento não lhe deixou
família nem proveitos. O romantismo desvaneceu-se ao fim de poucos
meses. Ele começou por proibi-la de manter os trabalhos de costura que
fazia para fora, chamava-lhes uma perda de tempo, pois não lhes faltava
dinheiro, e também não a deixava ajudar na fábrica. A Cremilde tinha mãos
para trabalhar, precisava de se sentir prestável, e as tarefas domésticas não
lhe ocupavam o tempo todo, mas o marido foi inflexível: controlava-lhe as
saídas, os afazeres e até com quem se relacionava. No início, ela
relativizou, achou que as intenções dele eram boas, que os cuidados eram
sinal de amor e preocupação, porque, às vezes, só vemos nas pessoas o que
nos convém, ou lemo-las ao contrário; mas, aos poucos, foi despertando
para os exageros. A situação agravou-se vertiginosamente quando o
Amílcar percebeu que a Cremilde não podia ter filhos. Culpou-a, ofendeu-a,
mas não ficou por aí.
As agressões começaram de forma abrupta e inexplicável. Certa noite, ele
cirandava pela cozinha, inquieto, uma veia saliente a pulsar-lhe na têmpora,
a mão a roçar os pelos do queixo. A Cremilde estava tão embrenhada nos
preparativos do jantar que não se apercebeu da sua impaciência. Ouviu-o
aproximar-se em passos leves, sentiu a respiração dele na sua nuca
enquanto juntava os legumes no alguidar, mas não houve um único sinal
que a fizesse prever o desfecho. Num impulso, ele agarrou-a pelo pescoço e
empurrou-a contra o fogão, que estremeceu com ela. O alguidar escorregou
da banca com o impacto e tombou com um estridor metálico, espalhando no
chão as hortaliças. Só quando levou o primeiro murro na cara e sentiu o
gosto do sangue ganhou consciência do que se estava a passar. Mas o pavor
imobilizou-a, calou-a para sempre.
As sovas tornaram-se um hábito em pouco tempo. Bastava uma palavra,
um olhar, um objeto fora do sítio, o coração dela aos pulos enquanto
ajeitava a ponta do naperon ou corrigia a simetria dos talheres, e ele de
sobrolho franzido, vigilante, a dar voltas para encontrar defeitos, a imaginá-
los e a apontá-los com má cara; a tratá-la como se fosse uma estranha, uma
criada, uma prostituta. Ao menor descuido choviam logo insultos e
barbaridades,
puta,
tantas vezes puta,
enquanto amornava o cinto nas mãos, devagar, uma, duas, sempre três
vezes, com pausas aritméticas, antes de lhe bater.
A Cremilde acordara muitas manhãs pisada e dorida, com o mundo a
desfazer-se dentro dela, enquanto inventava desculpas para se esconder da
vizinhança, porque o medo e a vergonha sempre foram monstros vorazes. A
Glória tentara ajudá-la, dera-lhe todas as oportunidades de se abrir em
confidência, sem nunca lhe ter arrancado mais do que um silêncio culpado.
E, ainda que não se perceba porquê, a Cremilde arranjava sempre maneira
de perdoar o marido.
Mas um dia algo mudou.
Uma sensação intensa e desconhecida foi incubando dentro dela como um
vírus. Começou secretamente a tecer a morte dele, a desejá-la e a visualizá-
la de formas atrozes. As outras mulheres a rogarem proteção à Virgem e ao
santo padroeiro para os pescadores da vila, e ela a pedir que o Amílcar se
sumisse como por milagre e nunca mais voltasse. Nessa altura a Cremilde
percebeu que podia esperar outras coisas da vida, além dos maus-tratos e do
confinamento em que vivia.
E a esperança começou a ser um alento.
Um pequeno conforto que podia guardar, em segredo, e era invisível ao
escrutínio do Amílcar.
Passou meses em torno dessa febre.
Quase uma paródia.
Até que o desejo dela se cumpriu.
Às vezes a Cremilde sentia essa espécie de felicidade que vira chegar
naquela noite em que abandonara a casa, esbaforida, apenas com a roupa
que levava no corpo, para fugir do marido.
E, por instantes, celebrava a morte dele.
Mas, por mais que tentasse, já não se lembrava de como acontecera.
25
Estava na loja quando começou a ressoar a agitação. As pessoas
atropelavam-se, desenfreadas, como se fugissem de uma praga, até que a
padeira, esvoaçando de porta em porta como uma espécie de pombo-
correio, lhe trouxe a mensagem. A Elisa ficou abismada, mas pensou logo
que só podia ser engano ou uma partida de mau gosto: os miúdos adoravam
inventar histórias macabras e as pessoas andavam tão nervosas que
acreditavam em tudo o que ouviam.
Tinha tantos motivos para duvidar.
E, no entanto, já tudo lhe parecia possível.
Atendeu as crianças que aguardavam por ela ao balcão, barulhentas e
impacientes com a chegada das férias, alheias ao rebuliço que se formava lá
fora. Entregou-lhes os sacos a transbordar de gomas, enquanto recebia o
dinheiro e ia espreitando pela montra.
Assim que se viu sozinha, sentou-se ao lado da filha, que falava com as
bonecas enquanto lhes servia chá e bolachas. Pensou em dar um salto à
cidade para lhe comprar roupa interior e um bacio e sentiu-se acometida por
uma certa nostalgia ao constatar que a filha estava a crescer; afinal, era tão
lamecha quanto o marido. Num impulso, puxou a Clara para si e deu-lhe
um abraço apertado, mas ela não gostou que lhe interrompesse a brincadeira
e libertou-se com maus modos.
– Para, mamã – proferiu numa voz abonecada.
A Elisa ficou um pouco triste com a reação dela − o pai podia agarrá-la o
quanto quisesse que ela não se queixava −, e contentou-se em observá-la de
perto.
Como não tinha clientes, aproveitou a pausa para consultar os e-mails e
ver se chegara o extrato da loja que havia pedido. Percebeu logo que lhe
tinham mandando, por engano, o documento de outra conta, mas não
resistiu a dar-lhe uma espreitadela antes de ligar ao banco. A conta estava
no nome do marido; inspecionou rapidamente o extrato e, por fim, sorriu.
Havia meses que o Artur falava em trocar de carro e podia apostar que ele
já andava a tratar disso. O melhor era fingir que não sabia de nada para não
estragar a surpresa, decidiu.
Depois passou os olhos pelo Facebook, desanimada. As pessoas
continuavam a partilhar o seu apelo sobre o desaparecimento da Alice,
numa onda de solidariedade que atravessara fronteiras, mas, na prática, o
gesto não servira de muito. De vez em quando surgia uma ou outra
informação duvidosa – equívocos, falsos alarmes, até uma brincadeira de
mau gosto –, e não passava disso. Porém, às custas desse alerta e das
notícias bombardeadas pela televisão, muita gente teria o rosto da Alice
gravado na memória e, por aquela altura, seria fácil reconhecê-la em
qualquer parte.
Nesse instante, duas clientes entraram na loja como uma rajada de vento,
acompanhadas por um bando de crianças barulhentas que se debruçaram
sobre o balcão, a pedir tudo ao mesmo tempo, entre gritos, empurrões e
cotoveladas. A Elisa pôs o computador de lado e atendeu-as com a simpatia
do costume, dando-lhes a provar algumas novidades. As mulheres estavam
visivelmente transtornadas com o rumor de que aparecera um corpo na
quinta, ansiosas por desenvolvimentos, e falavam baixinho entre elas para
não assustarem os miúdos.
O grupo estava prestes a retirar-se à mesma velocidade a que chegara
quando subitamente se deteve. Ainda que a Elisa não reconhecesse o
homem que acabava de entrar na loja, não seria difícil adivinhar quem era
pela forma como as crianças se encolheram na sua presença, trocando
cochichos e tapando a boca com a concha da mão. O Jeremias piscou-lhes o
olho numa espécie de cumprimento, o que fez com que as duas mulheres
puxassem as crianças para si, desconfiadas, e saíssem à pressa. Ele olhou
em redor e inspirou o perfume a doces no ar, inebriado, como se voltasse à
infância.
O Jeremias não se lembrava ao certo da chacina a que escapara.
As memórias que guardava daquele fim de infância abrupto foram-se
compondo ao longo do tempo com a fragilidade de um castelo de cartas,
não sabia se com os fragmentos mais ou menos credíveis que ia
recuperando ou, porventura, imaginando, se com os detalhes que a
vizinhança adicionava como tempero – e, por vezes, a história tornava-se
tão rocambolesca que mais parecia ter sido inventada.
Porque, na verdade, não era bem como a contavam.
O Jeremias viu as mulheres e os miúdos afastarem-se – iam olhando para
trás como se fugissem de uma assombração – e depois voltou-se para a
Elisa, entre o sério e o divertido, concluindo:
– Parece que viram um fantasma.
A Elisa ouvira o Artur falar do massacre na casa assombrada ainda antes
de chegarem à vila e depois foram aparecendo versões de todos os feitios,
tendo-se impressionado com os relatos minuciosos, cada um mais
perturbador do que o outro. Tinha pena de que aquele homem carregasse
recordações tão pesadas e talvez guardasse sequelas para a vida inteira, mas
isso não significava que fosse maluco ou capaz de matar alguém; à primeira
vista, até parecia uma pessoa bastante comum.
– O senhor não ligue, as pessoas não fazem por mal – condescendeu a
Elisa, tentando ser afável.
Ele ignorou o comentário, pedindo um saco de rebuçados sortidos e uma
caixa de chocolates. Pegou num dos folhetos com a fotografia da Alice à
sua frente e pousou-o passados segundos, sem dizer nada.
À medida que enchia o saco, a Elisa acompanhava o Jeremias com os
olhos enquanto este dava a volta à loja; e, quando se apercebeu, já ele
estava ao lado da Clara. Subitamente alerta, vigiava-o como um felino.
Apetecia-lhe largar o que tinha nas mãos, mas compreendeu que se o
fizesse de forma despropositada estaria a ser tão tacanha quanto as pessoas
que acabavam de sair. A situação era inofensiva, além do mais, a Clara não
estava minimamente incomodada com a presença do desconhecido; pelo
contrário, passara-lhe para as mãos uma chávena minúscula e observava-o,
divertida, enquanto ele fingia saborear o chá ao lado das bonecas.
A Elisa sorriu, entregando-lhe os doces e a conta um pouco mais depressa
do que seria desejável. O Jeremias despediu-se da Clara fazendo-lhe uma
festa no rosto e tirou a carteira do bolso para pagar.
Enquanto metia o dinheiro na caixa, a Elisa lembrou-se do rumor que
efervescia pela vila e foi dizendo em conversa, de olhos baixos:
– Andam para aí a dizer que encontraram um corpo na quinta. Oxalá não
seja verdade.
Mas, quando olhou em frente, o homem já lá não estava.
26
O caseiro resgatou o cadáver putrefacto de um gatarrão e pousou-o na
terra, mais sobressaltado com os berros do mulherio do que com a
descoberta sinistra. Não era a primeira vez que dava com um animal morto
no tanque ou preso no gradeamento da quinta e não se impressionava com
facilidade. Porém, daquela vez olhou para o filho, que se mantinha
estranhamente calado, e experimentou um certo desconforto.
A Mariana avançou por entre a multidão, espavorida, rompendo o muro
humano que se edificou junto ao reservatório. Quando se aproximou do
filho do caseiro, apercebeu-se do animal, inchado e decomposto, estendido
naquela pequena clareira, e a primeira coisa que sentiu foi alívio. Não era a
Alice, não podia ser. Pouco depois, apoderou-se dela uma tristeza e
finalmente compreendeu que se tratara de um acidente: afinal, a gata não
abandonara a ninhada; morrera afogada no tanque. Uma mãe não desistia
dos filhos, não perdia a esperança, só a morte a deteria. Procurou a cesta
junto ao abrigo, ainda lá estava, e escolheu um dos gatinhos para levar
consigo.
Se soubesse, a Alice havia de ficar contente.
*
A Glória e a Cremilde estavam sentadas lado a lado, entre os pimentos e
os molhos de espinafres, quando correu a boa-nova. Com o corrupio que se
gerou na tasca, a Isaura também ficou logo a saber e, pouco a pouco, não
houve quem não gracejasse da peripécia. Toda a gente ganhou outro alento
assim que o mal-entendido se desfez. Até o mar, já mais manso na
rebentação, parecia suspirar de alívio.
E a memória da Alice reacendeu-se, com tudo o que isso trazia de bom e
de mau.
A Elisa foi para a entrada da loja quando avistou o deslaçar da multidão
que ia apregoando o falso alarme. A Mariana passou por ela sem dizer nada,
aconchegando um embrulho ao peito, como se embalasse uma criança. A
padeira acelerou o passo para partilhar com ela os últimos acontecimentos a
uma velocidade estonteante, empolgada com os detalhes, e trocou
rapidamente de pouso.
A Salomé telefonou à Elisa pouco depois de a padeira levantar voo e
falaram sobre o gato morto durante uns minutos, mas a conversa acabou
naquilo que estava subjacente. Refeita do susto, a Salomé convidou-a para
um jantar em sua casa, insistindo em que precisavam todos de espairecer; e
a Elisa aceitou logo. Talvez a amiga tivesse razão e o convívio lhes fizesse
bem. Preparou um pequeno cabaz de doces para levar e ligou ao marido
para lhe falar do convite e do caso insólito, mas o telefone foi direito às
mensagens. Também já não o encontrou no stand.
– Foi mostrar um carro a um cliente – adiantou a funcionária do escritório
ao telefone, numa voz esganiçada, enquanto agredia as teclas do
computador.
A caminho de casa, a Elisa passou na lavandaria para levantar umas
camisas. Não estava com disposição para aturar a conversa da empregada,
mas lá lhe deu meio sorriso enquanto ia olhando repetidamente para o
relógio, tentando despachar-se. Por fim, a empregada entregou-lhe as peças,
apertando as bochechas da Clara afetuosamente, e mãe e filha já se tinham
afastado uns metros quando ela as chamou da porta. A Elisa voltou para
trás, sem disfarçar o aborrecimento, ao passo que a rapariga desaparecia nas
entranhas da loja para remexer um varão de cabides que cheiravam a
químicos. Quando regressou ao balcão, trazia umas calças do Artur e,
voltando-se para trás, abriu uma gaveta de onde retirou uma chave.
– Estava no bolso – estendeu-lha, confidenciando com um ar misterioso:
− Nem imagina as coisas que nos aparecem por aqui…
− Tem a certeza? É que não conheço esta chave… Bem, só se for do
escritório do meu marido – ponderou a Elisa, metendo a chave na carteira.
E, antes que a empregada retomasse a mexeriquice, foi-se embora.
*
Entrou na tasca com passo arrastado, como se de repente a velhice lhe
caísse em cima, o corpo um cabide que mal segurava as roupas. Limpou a
garganta para pedir um jarro de vinho, enquanto, ao seu lado, o Coxo ia
ruminando qualquer coisa para si mesmo, sem levantar as pestanas. O
António vinha com a intenção de se embebedar para pôr fim ao desespero
que lavrava dentro dele, ao ponto de cair estatelado no chão, inconsciente,
morto. Podia jurar que morrera quando lhe disseram que aparecera um
corpo no reservatório da quinta, pois, mesmo sem querer, a Alice, o rosto
dela a emergir na água, a falta dela um peso capaz de lhe afundar a alma; e,
se não emendassem o erro depressa, talvez o António nunca mais voltasse a
si.
− O que é que estás para aí a resmungar? − perguntou-lhe a Isaura
enquanto enchia o jarro.
− Nada, sei lá, estou a dar em doido.
A Isaura serviu-o, a fugir ao assunto e às lágrimas: bastaria uma palavra
desacertada para mergulharem ambos numa tristeza sem volta. Ele olhou
para o copo à sua frente, de onde transbordavam uns pingos que iam
escorregando pelo vidro fosco e se faziam sangue na sua mente, enquanto ia
crescendo nele uma melancolia e a vontade de beber murchava até se
extinguir por completo. O Coxo segurava o queixo com a mão, pensativo, e
nem o viu sair.
O António andava consumido com o que descobrira na manhã em que a
sua vida se virara do avesso.
Estava na hora de contar à Josefa.
*
Depois do tumulto que se gerou na quinta, a Josefa foi à procura do padre
para esclarecer a situação de uma vez por todas. E foi isso mesmo que
aconteceu, mas não como estava à espera. Dirigiu-se à igreja e ficou uns
minutos junto ao altar, meditativa, mas não fez as pazes com Deus nem
consigo.
Ainda se sentia uma rapariga, mas os anos tinham voado desde a
juventude; de repente nos trinta, mais umas velas sopradas e a carantonha
dos quarenta logo à vista. Mal se olhava ao espelho com medo do que fosse
encontrar: cabelos brancos, rugas, sinais do tempo, dos erros, das
preocupações, das cambalhotas que a vida dava sem dizer aonde iria parar.
Tal como não olhava para dentro com medo de se ver e, às vezes, tinha a
sensação de que um fantasma ocupara o seu lugar. Talvez a Josefa nunca
mais voltasse a ser a mesma; tal como nunca mais voltaria a ter vinte anos,
mas sem a Alice nem se empenharia em tentar.
Entrou na sacristia sem se anunciar, fizera-o tantas vezes, uns minutos
mais tarde e manter-se-ia no conforto da ignorância, mas talvez estivesse na
altura de esbarrar com a verdade. Assim que se confrontou com aquele
cenário execrável, ficou tão atordoada que teve de se amparar num móvel,
derrubando uma imagem da Sagrada Família. O padre viu-a nessa altura,
mas não foi a tempo de a travar. A Josefa saiu dali a correr.
*
Já as pessoas tinham debandado aos magotes rua abaixo quando o caseiro
voltou a sentir uma certa inquietação. Deu voltas à quinta enquanto
esperava pelo homem do canil, de ombros caídos.
Por fim, foi ter com o filho. Encontrou-o junto ao tanque, sentado de
pernas entrelaçadas na terra, como fazia em pequeno. Não havia nos seus
olhos espanto nem medo, nada para além de uma ligeira curiosidade
enquanto observava passivamente o cadáver do gato. Apanhara-o recolhido
na mesma posição, junto ao tanque, pouco depois de a mãe se ter ido
embora, mas talvez fosse demasiado pequeno para se lembrar. Pelo menos,
raramente tocavam no assunto − mãe era quase uma palavra proibida
naquela casa −, e o pai faria o que estivesse ao seu alcance para enterrar as
recordações dessa época. Cravara uma lápide com o nome da mulher entre
eles e não havia volta a dar. Cada um com os seus mortos.
O caseiro agachou-se ao pé dele sem interferir naquela estranha
contemplação; estava habituado às esquisitices do filho e só muito
esporadicamente lamentava que ele não fosse mais parecido com os outros
miúdos. E estavam ali os dois parados e emudecidos como as pedras frias
do tanque quando, de repente, o miúdo lhe disse com uma certa tristeza a
apertar-lhe a voz:
− Se calhar, a mãe também teve um acidente.
O pai enrijeceu a expressão, levantando-se e, já de costas voltadas,
respondeu:
− Não digas disparates, rapaz.
27
A Mariana passou na mercearia para pedir uma caixa de fruta para
acomodar o gato. Encontrou a Glória de volta de uma rapariguinha magra
com uma cara triste, a quem tinha pedido ajuda até que ela arranjasse
coragem para voltar. Não havia clientes naquela altura, e a Cremilde
adormecera na cadeira, o que foi bom porque a patroa se agarrou logo a ela
e se puseram as duas a chorar. A rapariguinha desviou o olhar, sem saber o
que dizer, e fingiu que repunha umas alfaces para não se comover também.
As lágrimas pegam-se como bocejos.
A Cremilde despertou com o choro delas, e a Mariana foi falar-lhe,
limpando o rosto.
− Adeus, Cidália – despediu-se a viúva, julgando tratar-se de uma prima
de quem gostava muito.
A caminho de casa, a Mariana ia olhando em redor como se de repente a
paisagem fosse uma pintura estéril: só casas, só árvores, só ruas mortas;
nada fazia sentido sem a Alice. Era como se tivesse caído num buraco e não
visse nada em redor, nenhuma luz, nenhum som, nada que lhe garantisse
que lá fora o mundo continuava a palpitar como antes. Nada que a fizesse
voltar à superfície, nada que valesse a pena amar.
Quando chegou, pousou a caixa e avançou a medo, como se lhe custasse
ali estar. A casa num silêncio descomunal e a Mariana em pezinhos de lã
para não dar conta de si mesma, movendo-se como uma tonta num quarto
às escuras, às apalpadelas para não esbarrar em nada, não sentir; se sentisse,
era capaz de cair e depois nunca mais se punha de pé.
Qualquer esforço era gigantesco: levantar-se, lavar a cara, dar meia dúzia
de passos, porque o corpo de repente um peso estranho, lento, avariado.
Sempre que pensava na filha rebentava de dor, o que de resto acontecia
constantemente. Nem no quarto dela conseguia entrar; mal abria a porta, era
abalroada pelas saudades, o coração esmagado só de olhar para as coisas lá
paradas, a ganharem pó, à espera de um dia; e, ainda que quisesse partilhar
aquela aflição com alguém, não conhecia palavras que a levassem tão longe
nem ninguém que a pudesse entender. Quando ouvia o toque do telefone ou
da campainha estremecia como se sofresse uma descarga elétrica,
imaginando a voz da Alice do outro lado, o rosto dela ao abrir a porta,
segundos, e depois nada. Nenhuma notícia, nenhuma resposta, nada que
trouxesse a filha de volta. As saudades eram tantas que já não cabiam
dentro dela.
A memória da filha estava impregnada em cada brinquedo, cada objeto,
espalhada pelo ar, por todo o lado; a Mariana respirava a falta dela. Até o
casaco da Alice esperava solitariamente por ela no bengaleiro. A Mariana
passou-lhe a mão como se fizesse uma festa à própria filha, pegou nele,
sentiu-lhe o cheiro, afagou o rosto com ele. De repente ocorreu-lhe que à
noite arrefecia e a Alice podia não ter sequer um agasalho para se aquecer;
oxalá alguém cuidasse dela. Sentou-se no sofá com o casaco nos braços,
muito encolhida, a tecer hipóteses.
Não havia um só minuto em que a Mariana não pensasse no que seria
feito da filha, onde estaria e com quem, em que condições, se passaria fome
ou sentiria medo, torturando-se com cenários escabrosos, por mais que o
tentasse evitar. À falta de respostas, pensava no pior, influenciada pelo que
via nos noticiários, tantos casos por todo o lado a abalarem a sua fé na
humanidade. Mas o mais insuportável ainda era não saber onde ela estava e
o que lhe acontecera; a dúvida era a pior condenação.
Ouvira falar de pais a quem tinham morrido os filhos, uma angústia para
a vida inteira, mas a Mariana não estava de luto; estava num estado sem
nome, o que tornava os sentimentos conflituosos, medindo forças entre si.
Às vezes sentia-se como se a tivessem virado do avesso e não restasse nada
dentro dela.
A Salomé visitou-a ao fim da tarde, queria saber como ela estava, mas,
quando a viu, nem precisou de perguntar. Ainda a tentou convencer a jantar
em sua casa, usando todos os argumentos de que se lembrou, mas foi inútil.
Ao tropeçar no gato, que entretanto abandonara a caixa para explorar
território, à semelhança de uma criança que dá os primeiros passos, fez-lhe
uma festa e foi procurar alguma coisa para lhe dar. Inspecionou o
frigorífico, mas não havia muito que se aproveitasse: só dois recipientes de
comida com cheiro duvidoso, um resto de fiambre e uns morangos que
começavam a apodrecer. Livrou-se do leite estragado e abriu outro pacote
para distrair o bicho da fome até lhe comprar comida. Depois fez um chá e
preparou uma sanduíche que a Mariana rejeitou.
– Tens de ter forças! – ralhou-lhe com meiguice.
A Mariana olhou para ela e depois puxou o prato para si, indecisa,
trincando uma pontinha do pão sem vontade.
– A minha filha vai voltar, Salomé – assegurou-lhe como se falasse para
si mesma; repetia-o tantas vezes.
Aquela crença era o que a mantinha de pé.
A Alice era resiliente, desembaraçada, havia de agarrar-se à vida com
unhas e dentes e, se surgisse uma oportunidade, não hesitaria em fugir. Os
criminosos também cometiam falhas e as pessoas estavam atentas, com
tanta informação a circular haviam de reparar nalgum pormenor importante.
Às vezes imaginava que falava com a filha e lhe pedia que aguentasse, que
não perdesse a fé nem as forças, pois não descansaria enquanto não a
trouxesse de volta.
– Andamos todos à procura da Alice e ela vai acabar por aparecer.
Lembra-te de que não estás sozinha – dizia-lhe a Salomé, a dar-lhe tempo e
esperança e o que mais pudesse dar-lhe.
E era verdade: os amigos desdobravam-se em cuidados, no desconforto
de não saberem mais o que dizer, mudando a ordem das palavras para as
frases não parecerem sempre as mesmas; mas, por mais que se esforçassem,
a Mariana sentia-se irremediavelmente sozinha.
Assim que a Salomé se foi embora, regressou ao sofá, esquecida do pão
em cima da mesa. Sentia-se uma incapaz, tanta gente à procura da Alice e
ela ali parada, à sombra da compaixão dos outros; era um absurdo.
Poderia ter feito tanto e não fizera nada.
Não fizera nada para impedir que a levassem, era o que pensava.
Pousou o casaco e foi buscar um papel e uma caneta à gaveta da cozinha.
Equacionou maneiras de procurar a filha e não lhe pareciam muitas, havia
tanta gente a fazer o mesmo; mas, aos poucos, foi anotando ruas e
caminhos, sítios onde a Alice costumava brincar, pessoas a quem se dirigir,
ideias que iam despontando de todo o lado.
Quando terminou, ganhou coragem e saiu.
Deu uma volta pequena e retornou a casa.
No dia seguinte já deu uma volta maior.
28
Em casa, nenhum deles falou sobre o alarido causado pelo gato morto.
Naquela terra as novidades duravam pouco, e a Elisa achou que o assunto já
fedia como o pobre do bicho.
O Artur ficou pronto ainda a mulher contemplava o roupeiro escancarado
sem saber o que vestir.
– Há bocado tentei ligar-te – comentou ela enquanto escolhia a roupa.
– Desculpa, fiquei sem bateria. Era importante?
− Não − a Elisa pôs o episódio de lado e tirou uma blusa do cabide. –
Deram-me uma chave na lavandaria. Parece que é tua, deixei-a no móvel da
entrada.
Ele saiu e voltou logo a seguir.
− Não, não é minha – disse, preparando a filha para o banho. − Mas onde
estava?
− A rapariga disse que estava no bolso das calças, mas se calhar fez
confusão, deixa lá, anda sempre com a cabeça no ar; depois falo com ela.
Quando acabou de se arranjar, encostou-se à porta da casa de banho. A
Clara brincava com o patinho de borracha na banheira, enquanto o pai a
lavava com movimentos suaves. Quando lhe salpicou espuma para os olhos,
a menina reagiu com uma careta indisposta e ameaçou chorar, mas o Artur
tranquilizou-a, limpando-lhe cuidadosamente o rosto. Depois deu-lhe um
beijo repenicado na bochecha e ficou a admirá-la. A Clara chapinhou com a
mão na água, retomando a brincadeira, mas ele tirou-a do banho.
– A água arrefeceu – explicou, enrolando-a numa toalha e entregando-a à
mãe.
A Elisa vestiu a filha, penteou-a, e, olhando bem para ela, observou com
ar de especialista na matéria:
− Falta aqui qualquer coisa. Vamos pôr um laçarote bonito no cabelo,
meu anjo − pegou nela pela mão e dirigiram-se ao outro quarto.
Remexeu as gavetas da cómoda até encontrar o que pretendia. Quando
voltaram, a Clara trazia um laçarote azul a combinar com o vestido e um
colar de contas colorido ao pescoço. Gostava de imitar a mãe e as meninas
mais velhas com quem costumava brincar, como a Alice ou a filha de
Salomé.
− Quis logo pô-lo e eu não tive coragem de lho tirar – resignou-se a Elisa.
O pai admirou-a por um instante e, agachando-se diante dela, tocou no
colar.
− Estás muito bonita − disse-lhe ao ouvido, com a voz a desmanchar-se.
− Vamos indo? – sugeriu a Elisa, pegando no cabaz de doces. – Ainda é
cedo, mas queria ver se dava uma ajuda à Salomé.
– Vou só ali ao escritório ver se o telemóvel carregou e já vos apanho.
A Elisa estava a sair quando viu a Mariana atravessar a rua e entrar em
casa. Ainda tentou chamá-la, mas ela não a ouviu. Talvez a visita não fosse
assim tão inoportuna e, quando o marido se juntou a elas, sugeriu:
– E se passássemos na Mariana? Nunca arranjo tempo para lá ir e até me
sinto mal.
– Mas não querias ajudar a Salomé? – lembrou o Artur, espreitando o
relógio com relutância − Ainda nos atrasamos.
− São cinco minutos – prometeu a mulher.
Mas demoraram muito mais.
A Mariana abriu a porta mal tocaram à campainha, como se estivesse à
espera de alguém, mas a desilusão tomou-lhe o rosto assim que os viu e não
a largou mais. Era uma mulher em ruínas. Convidou-os a entrar, enquanto
ajeitava inutilmente a bainha da saia e uns fios do cabelo que ficaram no
mesmo lugar.
A Clara estava tão encantada com o gatinho que não quis saber dos pais e
andou sempre atrás dele. A Elisa sentou-se ao lado da Mariana, tentando
confortá-la, mas nada do que lhe dizia parecia ter préstimo: a única coisa
que poderia consertá-la era saber da filha, encontrá-la, agarrá-la nos braços
outra vez.
Enquanto as mulheres conversavam, o Artur deu uma volta pela sala, de
mãos nos bolsos. Parou à frente do móvel e pegou numa das molduras que
lá estavam, cuidadosamente alinhadas, com a fotografia da Alice. Parecia
um memorial. Olhou para o relógio, apressando delicadamente a mulher, e
livrou o pobre gato da perseguição da Clara.
− Coitada, está um caco – desabafou mal saíram.
– Nem sei como ela se aguenta, com tudo o que lhe caiu em cima –
concordou a mulher.
E, talvez porque lhes tenha ocorrido o mesmo nesse instante, olharam
ambos para a filha, fazendo-lhe uma festa.
Assim que a Salomé lhes abriu a porta, a Clara desapareceu como um
foguete no interior da casa para se juntar aos filhos dela. O rapaz era o mais
velho e desceu as escadas a correr para escapar às picardias das meninas,
que em poucos minutos se aperaltaram e desfilavam pela sala com tiaras,
joias de plástico e plumas coloridas.
A Salomé esperou que as crianças se afastassem, deixando descair os
ombros e a voz, desencorajada. A filha também estava a ter dificuldades em
lidar com o desaparecimento da Alice, as duas eram próximas e aquilo
afetara-a profundamente. Acordava durante a noite com pesadelos, fazia
chichi na cama sem se aperceber, imaginava monstros atrás da porta, e no
colégio deram com ela a fazer desenhos sinistros, criaturas estranhas,
fantasmas, gigantes. A Salomé tentou de tudo para a tranquilizar: acendia as
luzes, mostrava-lhe que não havia nada a recear, só sombras inofensivas ou
as queixas do soalho a estalar, e às vezes deitava-se com ela à espera de que
adormecesse. Preveniu-a, desejosa de lhe poder mostrar caras e corações,
mas nem sempre se podem ler as pessoas como livros. Marcou o jantar na
esperança de que a filha se descontraísse brincando com a Clara num
ambiente controlado, para a ajudar a combater os medos e recuperar a
confiança. Algum dia teriam todos de voltar ao normal.
A Elisa acompanhou a Salomé à cozinha para tratarem dos aperitivos,
repetindo que tudo passaria a seu tempo, e tentou distraí-la com assuntos
pequenos. O Artur fez por acompanhar a prosa, mas depressa se cansou,
pois não gostava de livros nem de filmes e já ouvira todas as piadas da
Salomé sobre os alunos do terceiro ciclo. Juntou-se ao Rui e foram acender
o fogareiro nas traseiras, já o céu mudava de cor.
O Rui pousou a cerveja e preparou o grelhador, enquanto falava sobre
automóveis e futebol, assuntos de que o Artur estava um pouco farto mas,
por cortesia, foi alimentando a conversa. Assim que o amigo fez uma pausa
para se abastecer de carvão, aproveitou para consultar o telemóvel,
disfarçando um suspiro.
Nesse preciso momento, a filha da Salomé esgueirou-se para debaixo da
mesa e a Clara foi atrás dela. O Artur levantou a ponta da toalha e
espreitou-as com um ar preocupado, propondo:
− Vão antes brincar lá para dentro, que está a ficar frio, está bem?
Elas concordaram e desapareceram aos saltinhos pelo pátio, à sua frente.
Quando o Artur regressou com as crianças, o jantar estava pronto. A filha
da Salomé vinha a choramingar e correu logo para os braços da mãe,
causando algum desassossego.
− Não é nada – interveio o Artur, conciliador −, ela puxou o colar da
Clara com força e tive de lhe ralhar.
A Salomé fez um mimo à filha, explicando-lhe que procedera mal, pois
podia ter magoado a amiga, e os ânimos apaziguaram-se. Em minutos, as
duas meninas voltaram a brincar juntas, esquecidas do incidente. A Elisa
reparou que a filha já não trazia o colar ao pescoço, mas calculou que o
marido lho tivesse tirado, por precaução, e até ficou aliviada.
Comeram no pátio, debaixo de um toldo enfeitado com lanternas. Depois
de beliscarem o prato e atacarem os doces, as crianças saíram da mesa
como se tivessem pilhas inesgotáveis e, embora esfregassem os olhos de
sono, iam-se mantendo despertas. Só mais tarde a Clara se rendeu ao colo
da mãe e, pouco antes de adormecer, ainda perguntou:
− A Alice?
Foi o suficiente.
Olharam uns para os outros, sem saber o que dizer. Por mais que se
esquivassem, iam sempre dar ao mesmo. Ninguém aceitava o que
acontecera, a investigação parecia ter estagnado, pois os inspetores não
tinham pistas novas, e já nem a Salomé, que tanto enchia a Mariana de
esperança, acreditava que encontrassem a Alice com vida. A conversa
arrefeceu como a noite. O Rui desanuviou o ambiente voluntariando-se para
fazer café, e o Artur acompanhou-o.
A Elisa deixou a Clara nos braços da Salomé e levantou-se para ir à casa
de banho. Ao passar na cozinha, viu o marido da amiga sozinho, a juntar
chávenas num tabuleiro, e saiu. Deparou-se com o Artur à porta da casa de
banho, segredando algo à filha da Salomé. A menina passou por ela a agitar
um saquinho de caramelos na mão e subiu as escadas a correr.
– Fizemos as pazes – contou-lhe o marido, satisfeito.
– Ainda bem, a miúda não fez por mal e é natural que ande mais sensível
com tudo isto – condescendeu ela.
Quando a Elisa regressou à mesa, o Artur já a esperava com a filha
adormecida no colo e, despedindo-se dos amigos, foram-se embora.
O Artur pôs a filha na cama e vestiu o pijama, mas a Elisa não se foi logo
deitar − ainda estava preocupada com a Mariana e o fim de noite não tinha
ajudado. Arrumou os brinquedos que encontrou pelo caminho e aproveitou
para adiantar umas tarefas para o dia seguinte. Depois entrou no quarto da
filha e comprovou que ela dormia serenamente. Fazia-o mais vezes do que
seria necessário nos últimos dias, mas sentia-se melhor assim. Cobriu-a
com o lençol e passou-lhe a mão nos cachos, enternecida. Se alguma coisa
lhe acontecesse, estaria um farrapo igual à Mariana ou pior. Até a filha da
Salomé, que era uma criança, andava desestabilizada com o
incompreensível desaparecimento da amiga.
A Elisa olhou em redor à procura do colar para o arrumar na cómoda, mas
não o viu. E, quando se deitou, ocorreu-lhe perguntar ao marido onde o
tinha posto. Mas ele já estava a dormir.
29
Os dias passavam iguais uns aos outros nas coisas grandes.
As férias escolares chegaram e, apesar da tensão que se fazia sentir,
algumas crianças não resistiam a escapar-se à vigilância dos pais para
desfrutarem do ar livre. O Artur livrara-se de uma reunião chata ao fim da
tarde e aproveitou para levar a filha a dar um passeio. Sentou-se num canto
do parque infantil e ficou a observá-la com um entusiasmo quase pueril.
A Clara brincava com uma amiga, e o pai acenou-lhe, distraído, sem se
aperceber de que, não muito longe, outro homem contemplava as meninas
enquanto fumava um cigarro. O Artur recostou-se no banco com um suspiro
melancólico, apanhado numa teia de recordações.
Há sempre traços que vão desenhando as pessoas, mas nem ele sabia ao
certo porque era assim. Trazia o passado como um cadáver às costas,
pesado e pestilento, na esperança de um dia o largar num buraco e nunca
mais lhe sentir o cheiro. Mas esse dia não chegava e, de tanto o carregar, o
Artur já nem sabia quem levava quem. As crianças são como esponjas,
absorvem tudo, e o que acontece na infância fica-lhes na pele para o resto
da vida. O Artur apagou-se numa casa sem amor. Órfão de pai desde os
cinco anos; criado ao acaso por uma mãe muito ausente; as irmãs a
esquivarem-se dele como de um vírus porque andava sempre atrás delas;
um padrasto mau nos escombros da memória.
Nunca contou a ninguém.
Porque o medo, o desamor, a vergonha.
Toda a gente a dormir ou a fazer que dormia, e ele ainda mais pequeno do
que seria na realidade, minúsculo, encolhido entre os lençóis, à espera de
que a porta que deixava entreaberta por causa do medo do escuro, oxalá
fosse apenas o medo do escuro, se abrisse com um ranger desgostoso,
a qualquer momento,
ouvia os passos abafados no corredor,
só três ou quatro,
entrava um fio de luz e depois a escuridão tomava conta de tudo.
Julgava que empurrara essas recordações para longe, mas sempre as mãos
do passado pelo meio. Chegou a duvidar da justeza da memória,
questionando-se se aquelas noites bafientas e pegajosas aconteceram
mesmo, se não passavam de uma ratoeira da imaginação, já que tantas
vezes julgara estar a sonhar. Oxalá pudéssemos escolher os sonhos. E
durante anos achou que a culpa era sua, que havia um motivo, uma
explicação para ter sido ele a passar por tudo. Porque era o mais fraco dos
irmãos e ia ficando para trás, o mais feio, o mais desajeitado, aquele que
ninguém queria na equipa. O rapaz esquisito que se refugiava na sala de
aula, durante o intervalo, com a desculpa de adiantar os deveres, só para
não levar sopapos dos colegas no recreio. Esteve até para morrer à
nascença, por causa de uma complicação respiratória, mas no último
instante deram-lhe uma sacudidela e lá abriu as goelas. A mãe nunca se
esqueceu do incidente e fazia questão de lho lembrar, não com alívio, antes
com ressentimento e uma certa aversão.
Uma vez chegou ao ponto de lhe dizer:
– Devias ter morrido.
Quando o encontrou escondido no quintal, por trás dos lençóis que
dançavam nas cordas da roupa, e desejou que ele nunca tivesse nascido. E
ele para ela, a tremer e a chorar,
– Pois, devia ter morrido.
Os dois de acordo naquele dia, no único em que falaram o suficiente para
estarem de acordo. A mãe escorraçou-o de casa assim que atingiu a idade
para se desenrascar sozinho, menos uma boca, menos um problema, e
nunca houve arrependimentos nem saudades. Ele aceitou o primeiro
trabalho que lhe apareceu, era habilidoso com as tecnologias e agarrou-se
aos estudos. Viveu mal durante uns tempos, passou por albergues, garagens
e sítios que não cabiam na imaginação, e andou perdido, mas nunca voltou
para casa.
Foi colando partes de si próprio na esperança de disfarçar os estragos, e,
ao longe, parecia intacto. Talvez o Artur fosse uma pessoa mais feliz se a
sua infância tivesse sido outra, ou não, ninguém sabe, cada qual com os
seus despojos, e ele podia ter feito da vida uma coisa melhor, tanta gente se
vira do avesso para o conseguir, mas há pessoas que não se dão com a
felicidade.
O telemóvel tocou, interrompendo-lhe os devaneios, e ele atendeu,
esquecendo-se, por momentos, de vigiar a filha. O homem sentado mais à
frente acendeu outro cigarro, sem tirar os olhos da Clara, trancando os
pensamentos no fundo da mente para não dar nas vistas. Mas houve um
instante em o Artur reparou nele e sentiu um incómodo, quase um alarme, e
talvez tenha sido o instinto que o fez desligar à pressa e ir ter com a filha.
Guardou os brinquedos na mochila e pegou na Clara, fazendo uma
festinha na amiga. Depois dirigiu-se ao carro e meteu a filha na cadeirinha,
entregando-lhe a sua bolsa. Quando olhou para trás, os miúdos começavam
a ir-se embora e o homem do cigarro desapareceu de repente, como um
fantasma, deixando apenas um par de beatas para trás.
O Artur respirou fundo, talvez estivesse a ficar paranoico, considerou.
Ligou o carro, uma, duas vezes, mas, só ao fim de alguma insistência e uns
barulhos desencorajadores, conseguiu pô-lo a trabalhar.
− Ainda não é desta − celebrou.
Mais descontraído, atirou o casaco para o banco e pôs a tocar o disco
infantil que a filha costumava ouvir nas viagens. A Clara ia a cantar pelo
caminho, divertida, balançando os braços ao som da música, até que alguma
coisa mais interessante despertou a sua atenção.
30
Quando recuperou forças e saiu à rua com um único propósito na cabeça,
a Mariana fez tudo o que estava ao seu alcance para procurar a filha:
distribuiu folhetos, afixou cartazes, deu entrevistas aos jornais e à televisão;
fez apelos que emocionaram as hostes; palmilhou ruas e quelhos
incansavelmente, e até consultou uma bruxa nas Fontainhas que, numa sala
impregnada de incenso e móveis do Ikea, lhe revelou que a filha estava viva
e em breve iria aparecer. Talvez fosse instinto maternal, ou o mero desejo
de a encontrar, mas a Mariana agarrou-se àquela previsão esotérica sem a
menor hesitação, porque, se a filha tivesse morrido, decerto algo no seu
íntimo arranjaria forma de lho dizer.
De vez em quando os inspetores passavam na vila e falavam com alguém,
davam as mesmas voltas, deixavam as mesmas dúvidas. Por mais
cordelinhos de hipóteses que tecessem, não chegavam ao que acontecera.
Ninguém tinha coragem de desanimar a Mariana com as possibilidades
mais devastadoras, ela conhecia-as bem. Ainda assim não parava, não
permitia que se esquecessem. A memória era a primeira a morrer e depois
só mais um caso, mais um nome. Com a queda da ponte também fora assim,
nos primeiros tempos as pessoas falavam do assunto às escondidas dela,
sussurravam pelos cantos, largavam o que estavam a fazer para ficarem
especadas em frente da televisão, de volta das mesmas imagens, mas depois
habituaram-se, o assunto foi ficando para trás e, anos mais tarde, só lhes
ocorria quando passava uma reportagem por altura do aniversário da
tragédia. Os nomes das vítimas ficaram lá gravados para resistirem à
memória. A Mariana não pôde fazer nada pela mãe nem pelos irmãos, mas
nunca desistiria de procurar a Alice.
Andava tão desnorteada que até invadiu a propriedade do Jeremias; partiu
o vidro da janela com um pedregulho e entrou sem pensar duas vezes.
Havia dias que ninguém o via por ali. A casa estava suja e degradada, mas,
tirando isso, parecia igual às outras; nenhuma assombração que a viesse
espantar com caretas e gemidos soturnos, nem jatos de sangue a correr pelas
paredes. Estava tudo mais ou menos como a Mariana supunha estar umas
décadas antes; só a marca descorada de uma carpete, que outrora cobrira o
soalho da sala, acusava o passar do tempo. Deu uma volta à procura da
filha, gritou por ela, subiu e desceu as escadas, inspecionou os quartos à
procura de um som, um cheiro, algum vestígio que denunciasse a presença
dela, mas nada. Tirando um pacote de leite azedo e umas migalhas em cima
da mesa, não havia sinais de vida.
A vila desfalecia de tristeza, mas as pessoas encontravam sempre forças
para ajudar. O padre celebrou uma oração especial, como se fazia em dias
de festa, em que os escuteiros deixaram frases de conforto e o coro
raramente desafinou, e não se deu pela falta de ninguém. A Glória mantinha
a rapariguinha magra com uma cara triste na mercearia, apesar de não se
ajeitar muito com o serviço, porque até as rotinas se tornaram impraticáveis
para a Mariana. A Salomé criou uma página na Internet para ir reanimando
o caso e visitava a amiga quase todos os dias. A Isaura organizou uma
marcha silenciosa que moveu uma multidão, e essa noite estava tão
estrelada que, quando se acenderam as velas, parecia ter caído um pedaço
do céu. Por vezes, a Josefa levava caixas de comida à sobrinha, que ela
amontoava desinteressadamente na banca até azedarem; tratava do gato;
arejava o quarto; apanhava as roupas do chão; nunca saía sem deixar um
prato no forno e um cheiro a detergente no ar. O desmazelo da Mariana
estendia-se à casa e a tudo o que a rodeava.
Numa dessas manhãs em que estava para sair em busca da filha, a
Mariana pegou na carteira e nas chaves, mas as pernas quase não chegaram
à porta. O corpo como que feito de papel, capaz de ceder a uma corrente de
ar, um espirro. Às vezes não passava dali, porque se ia abaixo pelas razões
mais disparatadas e nos momentos mais imprevisíveis. Mas resistiu,
endireitou-se, truques de equilibrismo para se manter de pé, e finalmente
saiu. Habituou-se à luz, tirou do bolso a folha amarrotada onde anotava
ideias para encontrar a filha. Começou a subir a rua, as pernas moles como
se desse os primeiros passos, fazendo de conta que não via as pessoas para
não ter de parar − dizer-lhes o quê, ouvir sempre as mesmas expressões
gastas, suportar os segredinhos. Distanciara-se apenas alguns metros
quando a viu dobrar a esquina. O coração disparado porque de repente a
filha ali tão perto, de certeza que a filha, de trás era igualzinha, até no
cabelo, o saltitar também, chamou-a, correu atrás dela como uma
tresloucada, alcançou-a em segundos, puxou-a pelo braço, ofegante, o
sorriso deitado fora no instante em que olhou bem para ela, porque
nenhuma parecença, afinal, só o desejo de a ver. A menina ficou tão
assustada que nem se mexeu, foi a Mariana que fugiu dali a correr,
enquanto as lágrimas lhe caíam sem dar conta.
A Josefa encontrou-a pelo caminho e levou-a para casa. Deu-lhe primeiro
de comer, mandou-a tomar um banho e obrigou-a a vestir uma roupa
lavada. Tirando a magreza e a palidez, conseguiu pô-la mais apresentável.
Acrescentou-lhe uma palmadinha na mão, quase um carinho, se sobrasse
intimidade entre elas talvez se atrevesse a abraçá-la. A Mariana sentou-se
numa cadeira da cozinha e ligou a televisão para não ter de ouvir a tia.
Estava a passar a entrevista que o António tinha dado; chamou a Josefa e
ficaram as duas a assistir.
− Pelo menos, vão falando nela, mas já não consigo ouvir sempre a
mesma coisa – queixou-se a Mariana, desligando a televisão bruscamente. –
E a polícia ainda me diz que vá fazendo a minha vida normal, como se isso
fosse fácil. Dava tudo para voltar atrás…
A Mariana disse esta última frase como se pensasse em voz alta, quase
esquecida de que a tia ali estava, de radar ligado como as crianças, à espera
do momento certo. A Josefa foi matutando se o que via na sobrinha era
tristeza ou arrependimento, ela própria daria tudo para voltar atrás em tantas
coisas, e não resistiu a dizer-lhe enquanto limpava distraidamente um prato:
– Bem sei que não irias magoar a Alice de propósito, é tua filha, gostas
dela. E, se foi um acidente, não tens de te preocupar, acontece, ninguém
está livre. A polícia há de compreender, só tens de contar a verdade.
A Mariana não disse nada. A aparente candura nas palavras da tia trazia
uma rasteira perigosa. Por isso, resguardou-se, elevou-se de tal forma que
deixou de a escutar. Sabia de cor o que fizera naquela manhã, estava certa
de cada passo, poderia contar a mesma história quantas vezes lhe pedissem,
sem se baralhar nos factos. Mas a verdade não importava, só as
consequências da verdade. Vira a Alice sair de casa, acenara-lhe do portão,
certamente sorrira-lhe, porque era quase instintivo quando olhava para ela,
depois foi-se embora,
pensava nisso tantas vezes,
foi-se embora e a filha nunca mais voltou.
Que era tudo o que afinal importava.
E, mesmo que não o pudesse prever, e que racionalmente compreendesse
que se tratara de um acaso, uma infelicidade, mesmo que lho repetissem
milhares de vezes, que a tranquilizassem com argumentos e desculpas, não
deixava de se sentir responsável. A tia podia perfeitamente baixar as armas,
que ela não precisava de ajuda para se condenar.
A Josefa começou a impacientar-se com aquele silêncio e foi atirando as
palavras como pedras.
– Ou então alguém a levou. Não faltam por aí tarados à caça de
oportunidades, podem ter tirado partido da tua ingenuidade, e a gente pensa
que conhece as pessoas, mas não. O Coxo contou-me que o pai da pequena
andou a rondar a tua casa, e eu mesma o vi entrar no outro dia. Ao que
parece, vocês agora andam muito amigos. Que interesse teria esse malandro
na filha, ao fim deste tempo todo?
A Mariana ouviu tudo sem a interromper. Queria dizer à tia que estava
farta de guerras, que o rapaz não seria capaz de levar a filha à força e
bastava olhar para ele para perceber que também andava aflito, mas já não
sabia em que acreditar. Se lhe contasse que ele queria ver a filha havia anos,
ela ia logo atirar-lhe à cara o disparate que tinha sido impedi-lo. E não seria
verdade? O que poderia a Mariana dizer em sua defesa com um histórico de
imprudências, mentiras e más escolhas?
– Passaram-se semanas e ninguém sabe dela, se está viva ou morta, a
polícia fecha-se em copas e eu não aguento mais este tormento – prosseguiu
a Josefa. – Vá lá, diz-me, filha, sabes o que aconteceu à menina?
Filha, a palavra saiu-lhe tão emperrada que morreu à nascença. Quando a
Mariana era pequena, a Josefa tratava-a desta forma afetuosa, quase sem
pensar, mas o carinho foi secando e ultimamente o termo só lhe caía nas
frases por descuido. As pernas da Mariana tremiam-lhe tanto que receou
não ser capaz de enfrentar a tia, mas encheu-se de força.
– Se eu soubesse quem levou a minha filha, não estaria aqui. E a tia
escusa de vir com insinuações, que não é melhor do que esses malandros
que andam por aí à solta. Toda a gente sabe que se meteu com o padre, e só
não percebo como é que o tio continua a gostar tanto de si, porque você não
vale o amor de ninguém. Além disso, não era a mim que a polícia devia
fazer tantas perguntas. – Aguardou uns segundos e, por fim, libertou-se: –
Se matou o seu próprio filho, é capaz de tudo.
Era praticamente uma miúda, mas lembrava-se muito bem de ter visto a
tia cometer o crime. A Josefa nem a sentiu chegar. Quando a Mariana
ganhou consciência do que ela fizera, entrou em pânico e não teve coragem
para contar a ninguém. Nos primeiros tempos, estremecia de cada vez que a
tia a chamava; fugia dela; dormia com a cabeça escondida no lençol;
andava pela casa em bicos de pés e dizia-lhe que sim a tudo, com medo de
que lhe acontecesse o mesmo. Às vezes acordava durante a noite, aflita,
com a tia debruçada sobre ela, e não voltava a fechar os olhos. A Josefa
percebeu que a sobrinha se portava de forma esquisita, mas convenceu-se
de que aqueles disparates se deviam à morte do bebé. Era natural que a
miúda ficasse perturbada, sobretudo tendo já perdido a mãe e os irmãos.
Ao contrário do que esperava, a Mariana não sentiu qualquer satisfação
por revelar o segredo que aferrolhara até àquele dia, não havia nela senão
uma tristeza profunda, mas era a única forma de calar a tia para sempre. E
talvez o tenha conseguido.
A Josefa paralisou-se de surpresa, o seu rosto perdeu cor, a rigidez da
expressão desfez-se, e só aquela carcaça de pedra a impedia de desabar no
chão como um peso morto. Ainda que quisesse negar, não conseguiu.
Fora há tanto tempo e volta e meia as lembranças.
Por vezes fechava os olhos e ouvia-o num choro miudinho que
trespassava as paredes. Ela e o António, impotentes, a chorarem com ele,
porque, apesar de se desdobrarem em cuidados, não conseguiam apaziguá-
lo e, no hospital, também já não lhe podiam valer. E aquela amargura foi-se
espalhando entre eles, contaminando-os, enfraquecendo-os como se
estivessem também doentes. Julgava que se encontrava sozinha naquela
altura, não se apercebeu de que a Mariana ali estivesse. Acercou-se do
berço e contemplou o filho, que finalmente adormecera. Achou-o bonito,
apesar das pequenas deformações que tanto impressionavam os outros. Tê-
lo-ia amado mais do que nunca naquela fração de tempo. E, no início, só
queria ficar a admirá-lo em paz, porque em breve teria apenas um berço
vazio a encher o quarto de silêncio. Mas, aos poucos, foi sucumbindo à
revolta. Porque não podia sentir-se maravilhada como as outras mães;
porque tinha o coração cheio de um amor inútil que iria morrer com ela.
Deus também sabia ser malvado e arranjara maneira de a castigar,
obrigando-a a ver o filho sofrer, mirrar, desaparecer num chorozinho triste
sem lhe poder acudir. Já não aguentava vê-lo morrer aos poucos.
Não planeou nada.
Pegou na almofada num gesto quase inconsciente. Ergueu-a sobre o berço
e pressionou-a ligeiramente sobre o filho. Não hesitou, não mudou de
ideias, não pensou em nada enquanto o fazia. Ouviu um gemido abafado de
despedida, sentiu um tremor ligeiro e o corpo dele cedeu em pouco tempo.
Só nessa altura se deu conta do que fizera, mas já não podia voltar atrás. A
dor foi seca e silenciosa, sem lágrimas nem estardalhaço, fulminante como
um tumor que nos apanha pela calada e se espalha por todo o lado.
Encurralou-a para o resto da vida. A Josefa pegou no filho pela última vez e
embalou-o junto ao peito até que o António chegou e lho tirou dos braços.
Quando lhe contou que encontrara o bebé morto no berço, não havia
desespero na sua voz, apenas resignação.
Ninguém se surpreendeu, ninguém duvidou.
E, se descobrissem, diria que o fizera por amor.
Lembrara-se tanto de si mesma quando vira a sobrinha com a filha inerte
ao colo, em bebé, que seria fácil acreditar que eram iguais. Chegou a
desejar que o fossem.
– És uma mentirosa, ninguém vai acreditar em ti – advertiu a Josefa.
A Mariana afastou-se, desolada.
– Tenho tanta pena do tio, ele adorava o filho.
– Sabes lá o que dizes, o António nem era o pai – confessou-lhe com um
tremelique na voz; e não foi mais longe porque um barulho vindo de fora as
interrompeu.
A Josefa estava à espera de apanhar o gato do vizinho a derrubar-lhe os
vasos no pátio, mas quando chegou às traseiras só encontrou um balde a
rebolar no chão.
– Querem ver que anda para aí mais algum jornalista a cuscar?…
A Mariana ficou tão estupefacta com a revelação da tia que nem ligou ao
intruso e foi-se embora. Não se apercebeu, porém, de que era o tio que
descia a rua, desgovernado, em direção à tasca.
31
A Ritinha tinha um segredo que nunca contara a ninguém.
Certo dia fora apanhada numa teia.
Começara com um carinho, um presente, uma brincadeira que não
deixava adivinhar as intenções, e depois mais.
Porque há presentes envenenados que vêm em embrulhos bonitos.
E quanto mais guardava o segredo mais se enredava nele.
Sempre fora uma criança alegre e espontânea, fazia amigos ao primeiro
olá, adorava a escola, mas certo dia tudo mudou. A infância tornou-se um
fardo, um caminho pedregoso que percorria a medo, porque havia monstros
de que as histórias não falavam.
A mãe dava voltas à cabeça sem compreender os sinais; a filha andava
triste, arredia, acordava sobressaltada a meio da noite, até a professora
estranhara a quebra no rendimento, mas sempre achou que fosse uma fase e
confiou que passasse. Porém, nem o tempo parecia trazer a Ritinha de volta.
Pouco depois de a notícia do desaparecimento da Alice estourar, a Ritinha
ganhou coragem e esteve prestes a contar o seu segredo à professora. Os
colegas tinham saído a correr depois do toque, atropelando-se na escadaria,
e só ficaram elas as duas para trás. A Ritinha guardou os livros na mochila
um a um, enquanto a professora apagava o quadro com esfregadelas ágeis,
sem fazer aquelas nuvens de pó com que a miudagem se divertia à socapa.
Por fim, acercou-se da mesa dela, juntando as palavras na cabeça, e talvez
não bastassem para contar uma história tão desencantada. Mas não chegou a
falar, porque naquele instante entrou uma empregada rabugenta, de
carrapito desfeito e vassoura na mão, que a mandou logo embora para
limpar a sala, e a professora estava tão distraída a arrumar os cadernos que
mal se apercebeu da Ritinha ali parada. A oportunidade desvaneceu-se com
a chegada das férias.
Naquela manhã, a Ritinha e a mãe estavam sentadas à mesa quando
voltaram a falar sobre o desaparecimento da Alice na televisão e, ainda que
o assunto não fosse propriamente novidade, continuava a entrar pela casa
das pessoas como um vendaval.
Reparando que o prato da filha continuava intacto, a mãe mandou-a ir
comendo, mas ela parecia hipnotizada pelo ecrã e nem se mexeu. A
determinada altura levantou-se e aproximou-se da televisão; as pernas
chocalhavam uma na outra, a voz ficou presa no fundo da garganta como se
tivesse pedras, estava tão assustada que urinou pelas pernas abaixo e só se
deu conta quando se formou uma poça em redor.
Perante a estupefação da mãe, que a encheu logo de cuidados e perguntas,
a Ritinha limitou-se a apontar para o homem que o jornalista interpelava
naquele instante. Um entre tantos.
A partir daí, o segredo foi ficando mais pequeno até, por fim, desaparecer.
E talvez um dia a Ritinha recuperasse a fé nas histórias de encantar.
32
A par do choque e da perda propriamente dita, o desaparecimento da
Alice teve implicações obscuras de que ninguém ficou a saber. Foi
precisamente nessa altura que emergiram recordações que algumas pessoas
julgavam enterradas.
Aconteceu com as duas viúvas.
Naquela manhã, a Glória recuperou do fundo do roupeiro a caixa de
música que escondera da Cremilde e pô-la a tocar só para si. No fim,
suspirou e dirigiu-se ao quarto da amiga, certificando-se de que ela ainda
dormia. Não era justo privá-la das poucas memórias que guardava da Alice,
ainda que a pudessem entristecer. Pior seria não sentir nada. Deixou a caixa
de música na cómoda, entre as bugigangas que lá repousavam, e saiu.
Como sucedia quase sempre, bebeu o café sozinha, na cozinha, sentada à
mesa que o António lhe fizera quando a antiga se enchera de caruncho.
Depois, encostou a porta dos fundos e acomodou-se no jardim a contemplar
as flores. Não assistiu ao programa sobre a Alice que deu na televisão e já
só via as notícias de vez em quando, pois era como se acompanhasse uma
novela mexicana sem fim à vista. Talvez nunca se chegasse à verdade.
Poucos dias depois de a tragédia se ter despenhado sobre a vila, a Glória
acordara assombrada pelo passado. Começara a olhar para conhecidos e
estranhos com a mesma dúvida, inclusivamente os clientes mais antigos,
perguntando-se quem teria sido o responsável pelo desaparecimento da
Alice, pois sabia que, em determinadas circunstâncias, qualquer um seria
capaz de cometer um crime.
Até ela.
No início custou-lhe, vivia atormentada com o que fizera e não tinha
descanso. Depois encontrou motivos e atenuantes, tranquilizou a
consciência, e aquilo que antes lhe parecera um ato tresloucado e
imperdoável reduziu-se a uma fatalidade. Julgou que o incidente estava
esquecido, que o tinha empurrado para o fundo da memória até se evaporar,
mas as lembranças regressaram ainda mais vívidas e implacáveis com o
passar do tempo.
Uma ligeira brisa sacudia as folhas do limoeiro, mas nem o piar do melro
hospedado entre os ramos adulterava o silêncio. Fechou os olhos, e foi
nesse instante de profunda quietude que inesperadamente recuperou algo
que ocorrera havia muitos anos. Tantos, que poderia usar a desculpa da
idade para se fazer esquecida.
Amanhava um robalo para o jantar quando bateram à porta. A cancela
ficava sempre aberta e ninguém fazia cerimónia para entrar, mas já não
esperava visitas àquela hora. Pousou a faca na tábua, lavou as mãos e
enxugou-as no avental, enquanto o batente voltava a soar. A Cremilde vinha
enrolada num xaile e tremia como se fosse inverno. Quando destapou o
rosto, denunciou imediatamente um vermelhão no olho e o lábio rachado. A
respiração era tão acelerada que lhe faltava o ar e as palavras desfaziam-se
num sibilar prolongado antes de ganharem nexo. Mas não foi preciso
explicar-se. A Glória puxou uma cadeira para ela se sentar, embrulhou umas
raspas de gelo num pano e deu-lhe tempo de se recompor. Depois
acomodou-se e esperou pacientemente que ela desabafasse. Não se
surpreendeu com aquilo que ouviu.
Por mais que tivesse tentado, a Glória nunca conseguira que a amiga
pusesse fim ao sofrimento em que vivia. Mas naquele dia foi diferente.
Porque, apesar do estertor em que chegara, e de ter passado tantos anos
adormecida, a Cremilde acumulara muita raiva e estava finalmente disposta
a libertar-se. Saíra de casa como quem foge da cadeia, sem uma muda de
roupa nem uns trocos no bolso, jurando a si própria que nunca mais voltaria
a passar pelo mesmo.
Mas o Amílcar não lhe facilitou a vida.
Estavam as duas a conversar na cozinha quando ele se anunciou com duas
pancadas no batente. A Cremilde saltou da cadeira e escondeu-se a um
canto da banca, mas a Glória recuperou do susto depressa. Levantou-se e
abriu uma frincha da porta, com uma expressão que destoava da habitual.
Disse-lhe que a mulher dele não se encontrava ali, para o dissuadir, mas ele
não acreditou, e nem precisava de a ter seguido, porque a Cremilde não
tinha muitos amigos e aquele era o único sítio onde se poderia refugiar.
Manteve a chinela fincada na porta para o impedir de entrar, enquanto se
empinava para o ameaçar num tom severo:
– Tem vergonha e põe-te a andar! Olha que chamo a Guarda!
Ele pensava que as mulheres eram todas iguais, desconhecia a fibra do
adversário, e, por momentos, hesitou. Mas, quando se empertigou, fazia
lembrar um demónio. Bastou um encontrão para forçar a entrada e derrubar
a Glória que, apesar da tenacidade, era leve como uma flor. Percorreu o
vestíbulo e foi direito à cozinha. A Glória recompôs-se e tentou barrar-lhe a
passagem, mas ele abalroou-a novamente. O Amílcar olhou para a mulher
durante uns segundos.
– Cremilde.
Só o nome dela a demorar-se-lhe na voz.
E ela nem um pio, tão acanhada que desaparecia dentro do xaile.
– Anda-te embora, Cremilde! – ordenou-lhe, impaciente.
– Não vou – ela resistiu, sem sair do lugar, a aparecer lentamente por
entre as franjas do xaile.
O Amílcar deu dois passos na direção dela. Se estendesse a mão poderia
dominá-la com a força de um braço, mas conteve-se. Sorriu-lhe,
subitamente amansado, e bastou essa impostura para que ela adivinhasse o
que estava prestes a acontecer.
Desapertou o cinto, fê-lo correr entre as presilhas, e bateu com ele uma
vez na mão, desvairado.
– Puta.
E depois outra.
Quando ele sacudiu o cinto pela terceira vez, ambas as mulheres previram
o desfecho da história.
A Glória olhou em redor, à procura de algo que pudesse usar para
defender a amiga, pois antes que alguém acudisse já a Cremilde poderia
estar morta. Não se amedrontou com a robustez nem com a insolência do
Amílcar; preparou-se. Agarrou na enxada encostada à parede e ostentou-a,
confiando que o faria recuar.
Porque às vezes podemos mudar o fim da história.
– Vai-te embora enquanto é tempo! Não te volto a avisar!
Ele virou-se, uma veia proeminente saltava-lhe na têmpora como se fosse
rebentar a qualquer momento, mas depressa desviou a atenção dela. Voltou-
se novamente para a Cremilde, segurou o cinto com as duas mãos,
esticando-o no ar, pronto a enlaçá-la como a um animal.
Deu o último passo.
E nesse instante tudo se precipitou.
33
O Artur acordou bem-disposto, enchendo a mulher de beijos. Enquanto
servia o café, a Elisa avisou-o de que tencionava ir à cidade fazer umas
compras para a filha à hora de almoço, mas havia sobras no frigorífico se
ele as quisesse aquecer. O marido ainda se ofereceu para a levar, mas ela
dispensou-o para não o fazer perder tempo.
Quando iam a sair, a Elisa procurou a chave em cima do móvel, para a
devolver, mas não a encontrou.
– Viste aquela chave que veio da lavandaria? – perguntou ao marido.
– Estava aí – respondeu o Artur, metendo o telemóvel ao bolso.
A Elisa olhou em redor sem a ver; só esperava que a Clara não tivesse
pegado nela e metido em qualquer lado, era bem capaz disso, mas depois se
veria.
Passou primeiro no talho para deixar um pedido. Ainda não havia
clientela àquela hora da manhã; o Coxo enchia vagarosamente os tabuleiros
de carne na montra, assobiando uma musiquita, enquanto o empregado
afiava as facas em silêncio. Depois de pendurar um colar de chouriços no
gancho da parede, o Coxo ajeitou-se ao balcão, com uma perna sempre
mais lenta do que a outra, e cumprimentou a Elisa cheio de cortesias,
piscando o olho à Clara:
– Olá, princesa, estás boa?
A Clara franziu o sobrolho e resguardou-se na mãe, que continuava a
estranhar aquela antipatia que a filha nutria pelo talhante, se bem que nem
ela própria engraçasse com ele.
Na televisão continuavam a passar as notícias berrantes do costume.
Quando se falou na Alice, o Coxo limpou as mãos ensanguentadas ao
avental para aumentar o volume e reclinou-se ao balcão, embalado pelo
som das suas próprias palavras durante a entrevista. O excerto durou
segundos e o nome do talho não chegou a aparecer, o que o deixou
levemente indignado. Falaram mais três ou quatro pessoas da terra e depois
foi a vez do Artur. A Clara apontou para a televisão, um pouco confusa, e a
Elisa confirmou-lhe, «é o pai», enquanto tentava escutar o marido. Menos
interessado nas intervenções dos conterrâneos, o Coxo retomou o posto e
ofereceu-se para lhe levar a carne a casa, mas a Elisa preferiu ir buscá-la
mais tarde. Ao despedir-se, ele ainda dirigiu uma careta apatetada à Clara,
soprando-lhe um beijo; e, sentindo-se um pouco constrangida com aquelas
atenções, a mãe agarrou nela e apressou-se a sair.
Já tinha duas clientes à espera na loja, com uma encomenda extensa para
uma festa de aniversário, e o movimento durante a manhã foi tanto que não
lhe permitiu pensar em mais nada.
Pela hora do almoço, apanhou o autocarro para o Porto. Uma vez por
outra, a Clara lá ia perguntando quanto tempo faltava para chegarem, mas
estava tão entretida com um ursinho de peluche que não rabujou durante a
viagem. A Elisa fez as compras em pouco tempo, sem se dispersar com a
panóplia de lojas que despontavam no coração da Baixa. A filha até ajudou
a escolher a sua própria roupa interior e o bacio com entusiasmo, e juntas
combinaram iniciar os treinos para largar a fralda. Almoçaram na esplanada
de um cafezinho agradável na rua das Flores, cuja dona servia francesinhas
ao ritmo de quem tira cafés, socorrendo-se dos gestos e de um tom vigoroso
para se entender com os estrangeiros, como se falando mais alto eles a
compreendessem melhor.
A Elisa ia observando o frenesi cosmopolita, divertida; as pessoas
formigavam pela cidade, apressadas, desviando-se umas das outras como se
fosse um jogo, e aquele podia ser o seu retrato um ano antes. Em redor,
pequenos edifícios brotavam como cogumelos por todo o lado, encaixados
uns nos outros à justa, cercados de tapumes e andaimes, gemendo por entre
os martelos pneumáticos e o linguajar dos trolhas. Os turistas apreciavam as
maravilhas que escapam às gentes dali no dia-a-dia, na liberdade de roupa
folgada e mochila às costas, equilibrados em geringonças com rodas, a
tagarelar em línguas que entravam na musicalidade urbana.
Dava a última colher de sopa à filha quando uma voz familiar a
surpreendeu:
– Elisa?
Ela olhou para cima e reconheceu um antigo colega do Artur, não sabia se
Paulo se Pedro, um dos dois quase de certeza, mas não quis arriscar.
– Olá, há quanto tempo! – cumprimentou-o, levantando-se. – Que fazes
aqui?
Era Paulo, afinal, acabou por se lembrar.
– Olha, tive uma reunião, mas vou hoje para baixo.
– Que pena… se ficasses mais tempo no Porto combinávamos qualquer
coisa; o Artur ia gostar de te ver.
– Pois, também gostava de estar com ele – comentou sorridente. – Para
ser sincero, nunca esperei que ele se despedisse da empresa assim do nada,
mas cada um sabe de si. O chefe é que ficou meio chateado quando ele se
veio embora e até demorou a encontrar alguém que o substituísse, mas
enfim, tudo se resolveu. Tu estás ótima, a mudança fez-vos bem. E a vossa
menina, que linda, está enorme! – surpreendeu-se, afagando os cachos da
Clara que reluziam ao sol.
Acabou por lhes fazer companhia durante uns minutos, mas a Elisa estava
tão desconcentrada que mal o escutava. Quando se despediram, pagou a
conta, pegou na filha e nas compras e apanhou o autocarro de regresso à
vila.
A Clara adormeceu durante a viagem, agarrada ao ursinho, enquanto a
mãe pensava naquela revelação inesperada. Era natural que o marido
quisesse mudar de vida, porque às vezes nos dá um clique, e até
compreendia que tivesse tido medo da sua reação; ela jamais teria vindo
embora se não fosse por um motivo de força maior. Mas não gostava de
rodeios.
Depois de reabrir a loja, a Elisa pôs-se ao balcão e esteve sempre
ocupada, porém, o assunto não lhe saía da cabeça.
Ao fim da tarde, foi buscar a carne que encomendara, evitando demorar-
se, pois a Clara continuava a resistir aos gracejos do talhante, olhando-o
com desconfiança.
Estava a abrir a porta de casa quando ouviu o telefone tocar. Encostou os
sacos na entrada e correu para a sala, mas já não foi a tempo de atender.
Deixou a filha sentada no bacio, enquanto arrumava as compras, para ver
se ela se habituava a usá-lo. A Clara começou por achar graça à
experiência, ia falando alternadamente com a mãe e com o urso, mas a
determinada altura aborreceu-se de estar na mesma posição e levantou-se,
sem reparar que um fio de chichi lhe escorria pelas pernas abaixo. Assim
que a mãe a viu toda molhada, pegou-lhe ao colo e meteu-a na banheira.
Tirou-lhe o brinquedo da mão, verificou que escapara ileso e meteu-o no
bolso, abrindo a torneira. Estava a acabar de vestir a filha quando o marido
chegou, mas nem lhe falou no descuido dela porque o telefone voltou a
tocar.
O Artur foi à sala e levantou o auscultador,
– Sim?
Ia jurar que havia gente do outro lado da linha, ouvia-lhe a respiração,
mas ninguém se pronunciou.
– Quem era? – perguntou a Elisa.
– Alguém que se arrependeu – respondeu o marido, dando-lhe um beijo.
– Já é a segunda vez que toca; até pensei que fosse a minha mãe – contou-
lhe a Elisa, calçando os sapatos à Clara, que correu logo para o colo do pai.
O Artur brincou com a filha durante uns minutos e depois foi para o
escritório. Assim que terminou de limpar tudo, a Elisa deixou a Clara a
folhear um livro cheio de animais coloridos e foi ter com ele.
− Nem sabes quem encontrei hoje no Porto.
− Quem? − o Artur desviou momentaneamente a atenção do computador,
curioso.
− Aquele teu colega de Lisboa, o Paulo. Mandou-te um abraço.
O Artur ficou embaraçado e não foi capaz de dizer nada. O silêncio
tornou-se incómodo, e a Elisa, que não tinha feitio para evasivas nem
dramas, contou-lhe então o que descobrira. O marido não negou, não se fez
de desentendido, nem fugiu à verdade. Levantou-se e admitiu logo:
− É verdade, desculpa não ter sido honesto contigo. Mas juro que foi com
boa intenção…
− Eu sei − concordou a Elisa, desarmada. − E reconheço que a mudança
só nos fez bem. Foi na hora certa. Além disso, a Clara adora isto. Mas
devias ter aberto o jogo na altura, era o que faltava andarmos com
segredinhos entre nós.
− Sim, tens toda a razão, foi uma estupidez; não volta a acontecer…
A Elisa estava à espera de um discurso reparador, mas o marido não disse
mais nada e o silêncio voltou a instalar-se.
− Às vezes sinto que deixámos qualquer coisa para trás, sabes? −
partilhou ela, pensativa.
− É natural, tínhamos lá tudo.
− Eu sei que não ligas a essas coisas, praticamente não tens família, mas
vejo a minha mãe quando calha, os meus padrinhos nem se fala, e há uma
série de amigos com quem não estou há imenso tempo: o João, a Ana, a
Patrícia, gente a quem perdi o rasto… Olha, a nossa vizinha, por exemplo,
nunca mais soube nada dela, tenho de lhe ligar…
O Artur pareceu um pouco desconfortável e voltou a sentar-se.
− Deixa lá isso – disse apenas –, temo-nos aos três e nunca estivemos tão
bem.
A Elisa achou que ele até tinha razão, mas não havia nada que a
preparasse para o que veio a seguir.
– Aliás, há uma coisa que devias saber sobre a nossa vizinha…
34
Assim que foi atropelado pelas palavras da mulher, o António
despedaçou-se.
A sua vida era um desastre. O casamento não passava de uma fraude; a
Mariana não dizia coisa com coisa; o que lhe sobrava da família, duas
irmãs, cunhados, sobrinhos que mal conhecia, estavam lá longe, numa terra
agreste e destemperada onde não voltara a pôr os pés; os amigos
verdadeiros rareavam, a Isaura e pouco mais, e uma pessoa sem amor e
afeto não é ninguém. Sentiu o golpe fulminante no peito, a humilhação e o
desalento à mistura. A ferida era tão profunda que o António se poderia
esvair num charco de sangue sem ninguém se aperceber.
Nem quis ouvir quando a Isaura lhe disse que o tinha visto na televisão,
nunca fora de deslumbramentos. Bebeu, desalmado, pondo termo à
abstinência que à maioria passara quase despercebida, e poderia morrer
naquele instante, que não lhe faria diferença. Seria menos cruel do que o
destino que o esperava. Até um homem bom paga pelas suas fraquezas.
Apesar de a Isaura puxar por ele com jeitinho, tentando convencê-lo a
desabafar, o António desconversou, pediu mais um copo, meteu tudo para
dentro. Saiu da tasca a cambalear, sem saber que rumo seguir; tudo o que
conhecia e desejava estava ali, naquele palmo de terra. Ao fim do dia,
decidiu então voltar para casa e pensar no que fazer.
Encontrou a mulher sozinha, a tratar das trivialidades do costume, como
se fosse um dia igual aos outros. Não havia uma réstia de insegurança nela,
nenhuma suspeita de que ele a escutara umas horas antes. O António
sentou-se à mesa e levou um pedaço de pão à boca, enquanto desfazia o
resto, com os dedos, na malga da sopa.
Só quando se viu abrigado pelo silêncio da madrugada, arranjou coragem
para refletir naquela confissão abominável. Deu voltas na cama, sem
conseguir adormecer. Sentia-se perdido, desamparado, e, por mais que
tentasse, não conseguia compreender o que conduzira a Josefa àquela
situação desastrosa.
Em determinadas alturas faltaram-lhe as forças, deixara-se enredar pelo
álcool e cometera alguns erros, mas sempre fora leal. Fizera da família a sua
razão de ser, dera-lhe tudo o que tinha, e não lhe restava nada. Nem sequer
um passado para aconchegar na memória, porque lhe parecia que, se vivera
na mentira, nem as recordações lhe pertenciam. Era mais sem-abrigo do que
o professor, a quem tinham desapossado de tudo, exceto do coração. Não
havia maior miséria do que não ter ninguém. Já nem lhe servia de consolo
ter sido pai, embora tivesse acarinhado aquele filho como se fosse seu, e era
seu, apesar do que a ciência pudesse ditar, porque as pessoas não se
resumem a elementos químicos, moléculas, genes, são também o amor que
lhes dão. A Josefa não tinha o direito de pôr termo à vida que gerara. O
António suportaria muitas falhas e traições, qualquer golpe menos esse.
Prepararam-se para a morte do filho logo à nascença, o maior contrassenso
de todos, enquanto os outros pais rejubilavam em redor dos berços, a
afinarem a voz e a esbanjarem sorrisos por entre chambres de cambraia.
Ouviram as palavras do médico com um silêncio retumbante entre eles, a
afastá-los devagarinho, sem se aperceberem de que aquilo que deixaram por
dizer os separou para sempre. E talvez esse tenha sido o primeiro sinal: o
silêncio em si não tem valor, precisa de um contexto, mas o silêncio meteu-
se entre eles de uma forma tão avarenta que não deixou entrar mais nada.
Lembrava-se tanto daquele dia em que pegara no filho pela última vez,
nem um sopro, nem um som, o corpo já frio encaixado nos seus braços
como se tivesse a forma perfeita, porque no coração tudo se acomoda, e o
que lhe custou pousá-lo no berço como se ele fosse acordar. Ainda lhe
passou pela cabeça, de repente, um milagre qualquer.
O António sentiu a primeira lágrima correr-lhe pela face, e foi nesse
instante de invulgar comoção que se resolveu.
Mal podia esperar que ela acordasse. Não deixaria nada por dizer. Trazia
as palavras gravadas na memória, de tanto as ensaiar. Havia anos que os
compinchas da tasca lhe sopravam o rumor aos ouvidos, descurara tantos
sinais, conversas interrompidas, silêncios forçados, sempre a julgar que era
maldade, a querer que fosse inveja ou paleio de bêbado. Iria direito ao
assunto, sem lhe dar tempo de reagir, arranjar desculpas, remendar a
verdade, inventar uma história que por milagre a ilibasse, ainda que, desta
feita, nem Deus se atrevesse a pôr-se do lado dela.
– Mataste o teu filho.
Pronunciou a frase em voz baixa, para ver como soava. O António não se
dava bem nem mal com as palavras, evitava-as. Trocara a escola pela
lavoura, desde que os pais lhe viram mãos para o trabalho, e nunca se
aventurara no léxico, nem lhe parecia que houvesse vocabulário suficiente
para expressar o que sentia. Mas era uma acusação digna, o resto viria com
o embalo. Como se não lhe bastasse suportar a deslealdade, a desonra de ser
o maior corno manso da vila, pai de um filho que nunca fora seu no sangue,
perdera algo que jamais poderia recuperar. E antes fosse um braço, uma
perna, cuja falta se visse e lhe deixasse por companhia uma dor fantasma,
porque a sensação que tinha era a de que lhe haviam aberto um buraco no
peito e arrancado o que tinha lá dentro.
Afastou o lençol e levantou-se, incapaz de olhar para a mulher.
Abandonou descalço o quarto e atravessou o pátio como um condenado à
morte. A noite despedia-se devagar, indiferente ao tumulto que se
precipitava dentro dele como uma avalancha. Entrou na oficina e acendeu a
lâmpada suspensa do teto. Olhou em redor como se se despedisse. Arrastou
o escadote para a sua beira, apoiou-o no móvel e subiu três degraus, até
atingir a última prateleira. Mesmo aquele pequeno esforço o deixou sem ar
porque o corpo andava a par da alma. Quando alcançou o que pretendia,
desceu, e preparava-se para sair quando as recordações se intrometeram.
Abriu a última gaveta do móvel e tirou primeiro a caixa de parafusos onde
guardara o travessão da Alice. Pegou nele e pousou-o logo, angustiado com
os pensamentos que sobrevinham. Depois foi a vez do embrulho que estava
ao lado. Desatou a fita de ráfia e desdobrou-o devagar, com as pontas dos
dedos ásperos a ganharem uma delicadeza inesperada. Finalmente,
contemplou o que estava lá dentro. Desfizera-se de quase todas as coisas
que construíra para o filho, para poupar a mulher ao sofrimento, e, aos
poucos, fora apagando a lembrança dele pela casa. Só restava o berço
debaixo de um lençol empoeirado em que nunca tocava e o primeiro
brinquedo que lhe fizera: um carrinho de madeira que não chegara a pintar.
E, no entanto, era o que tinha de maior valor.
Foi a última vez que chorou.
Enxugou as lágrimas e regressou ao quarto com a caçadeira debaixo do
braço. Sentou-se no velho cadeirão junto à porta e passou ali o resto da
madrugada de sentinela, sem que as pálpebras se vergassem ao cansaço.
Passadas poucas horas, o sol intrometeu-se pelas frinchas da persiana,
pontilhando o quarto de luz. A Josefa foi tateando o colchão, para se
certificar da ausência do marido. Não estava à espera de o encontrar na
penumbra, olhando fixamente para ela, com a caçadeira pousada no colo.
No começo, ficou mais surpreendida do que assustada, mas não tardou a
descortinar a gravidade da situação.
O António debatia-se com muitas emoções, umas encavalitadas nas
outras, e qualquer uma o poderia empurrar para uma decisão sem volta.
Estava na altura de pôr fim àquela farsa.
– Mataste o teu filho.
Gritava para si mesmo, vezes sem conta, um eco numa casa vazia.
Quando só lhe apetecia cair de joelhos, suplicando
– Porquê?
As pessoas tentam sempre compreender o absurdo.
No entanto, sabia que mataste o teu filho porquê, ou qualquer
mediocridade do género, mudaria a vida deles para sempre. Nunca mais
poderia fazer de conta, desligar-se dos cochichos, rir-se da tacanhez dos
outros, salvar a memória do filho, deitar-se na cama sem sentir na mulher o
ranço do padre, passar-lhe o braço pela cintura durante a noite sem magicar
formas de lhe tirar a vida, que afinal é muito mais curta do que em criança
se imagina.
A consciência mandava-o recuar, e pouco orgulho lhe restava, resquícios,
mas a indignação reclamava vingança. O António levantou-se, pegou na
arma, que naquela altura era um mastodonte, tão mais pesada do que
quando ia à caça, estremeceu, o corpo cedia como uma estrutura
enferrujada, velho, teria envelhecido de solidão. A voz saiu-lhe arrastada
pela pieira, um sibilo incompreensível, e já nem lembrança do discurso
pujante que ensaiara durante a noite. As palavras duram pouco e por vezes
não deixam nada no lugar delas.
A Josefa arregalou os olhos e retraiu-se, aterrada, quando se viu na mira
dele. Sempre soubera os riscos que corria, mas foi confiando na
ingenuidade do marido, na própria astúcia para o manipular, e nunca
acreditou que aquele momento chegasse. Não tinha nada a dizer em sua
defesa: como explicar-lhe que às vezes já nem sabia quem era, debatia-se
com desculpas esfarrapadas, sentimentos a que nunca dera valor, porque na
iminência da morte tudo adquire outra importância.
Mas não era a única a guardar segredos.
O António andava consumido com o que lhe ocultou. Tencionava contar-
lhe a verdade, mas o caos instalou-se e nunca mais arranjou coragem de o
fazer.
A Josefa cobriu o rosto com as mãos e não foi além de um
– Perdoa-me
tremido, insincero, que repetiu apenas por desespero.
O António pôs o dedo no gatilho, quase tão alarmado quanto ela; mas
depois hesitou, porque o amor, porque tudo, oxalá pudessem voltar ao que
eram.
Se ao menos encontrassem as palavras que tinham perdido, talvez se
voltassem a aproximar.
Mas o silêncio.
35
Quando a Mariana saiu de casa, o céu tinha a claridade morna do
amanhecer. Caminhou pelas ruas desertas, contornou o parque infantil e
embrenhou-se no terreno que ficava por detrás. Não se via vivalma e,
tirando o restolho das suas passadas no mato, só se ouvia o chilrear
ocasional dos pássaros e o vento a afagar as hastes vertiginosas dos
eucaliptos. Olhou em redor e seguiu o instinto. Não tardaria a encontrar a
filha, estava cada vez mais convencida disso. Caminhou umas centenas de
metros sem que o cansaço lhe tolhesse as forças, mas, ao fim de algum
tempo, constatou que acabara por se perder.
− Alice! − gritou, mas nem os pássaros se pronunciaram nem o vento
falou mais alto quando ouviu o nome dela.
Foi nessa altura que se deparou com uma pequena clareira onde
repousava um poço. Aproximou-se. Levantou a argola de ferro com força e
a tampa do poço, velha dos anos e do trato, cedeu com um gemido breve.
Arrastou-a para a borda com toda a força e atirou-a para o chão.
Finalmente, debruçou-se sobre a pedra musgosa e espreitou lá para dentro.
Um reflexo sombrio compunha-se por entre a crista dos eucaliptos na água
turva, mas o rosto que ali via não era o seu; era o da filha. O choque foi tão
intenso que o seu corpo se contorceu num espasmo e tombou para dentro do
poço como um pássaro morto.
A campainha tocou antes que batesse no fundo. Alguém lhe dissera que
nunca chegamos a morrer nos nossos sonhos e talvez fosse verdade.
Era muito cedo e demorou a reagir, como se aquele sonho lhe fincasse as
garras na pele. Piscou os olhos, procurou o roupão aos pés da cama e foi
descalça até à entrada. Abriu a porta, ligeiramente encandeada pela luz da
manhã, e não viu ninguém. Estava prestes a voltar para dentro quando
reparou num papel entalado no portão e tirou-o. No topo da folha estava
escrito «Eu e a Alice» numa caligrafia acidentada e, mais ou menos a meio,
um menino e uma menina sorriam, de mãos dadas. O desenho era
atabalhoado, faltava-lhe cor, mas as crianças pareciam felizes. A Mariana
comoveu-se; não era a primeira vez que lhe deixavam pequenas oferendas e
sempre lhe parecera uma forma de as pessoas demonstrarem solidariedade e
afeto pela Alice.
Estava ali perdida nos seus pensamentos quando apanhou o filho do
caseiro da quinta a espreitá-la. Assim que foi descoberto, o rapaz recuou,
envergonhado, mas ela chamou-o:
− Anda cá, não te acanhes – fez-lhe sinal para se aproximar e, apontando
para o desenho, perguntou-lhe: – Foste tu que fizeste? – Ele corou e não
respondeu, as palavras saíam-lhe sempre a medo. − Obrigada, está muito
bonito − encorajou a Mariana sem sentir o peso da mentira. – Vou pô-lo no
quarto da Alice para quando ela voltar.
Se fosse capaz de lá entrar, era o que faria.
O filho do caseiro segurou os braços com as mãos, como se tivesse frio,
enquanto remoía qualquer coisa que a Mariana não compreendeu logo.
− Disseste alguma coisa?
Ele arranjou coragem e repetiu, sem que dessa vez o embaraço lhe
ensarilhasse as palavras:
− A Alice morreu – pareceu uma constatação, pois passaram-se segundos
até que perguntasse −, não foi?
A Mariana largou o desenho, instantaneamente.
− Claro que não! Que disparate é esse? – tentou manter-se firme, mas por
dentro desmanchava-se como um castelo de areia.
− Também dizem que a minha mãe desapareceu, mas eu vi-a no tanque da
quinta, como a gata.
− A sério? – questionou a Mariana, cautelosa.
− Quer dizer – ele ponderou, de sobrolho franzido, como se esgaravatasse
o episódio na memória, e corrigiu-se −, sonhei que a vi. Pelo menos, foi o
que o meu pai disse. Mas há sonhos que parecem mesmo de verdade…
36
Pela manhã, a Elisa tentou afastar do pensamento aquilo que o marido lhe
contara, mas era quase impossível. Podia lá imaginar que a antiga vizinha
se tentasse meter com ele. Não admirava que o Artur tivesse ficado
constrangido e a mudança se tornasse tão oportuna. Claro que ficara
incomodada, sempre achara que o Artur dava demasiada atenção à vizinha,
mas sabia que, nessa época, ela estava a passar por um mau bocado, e
também de nada lhe servia alimentar ressentimentos passado um ano. Ele
não escolhera a melhor forma de lidar com a situação, mas, ainda que por
portas travessas, a mudança fizera-lhes bem. A certa altura lembrou-se do
que lhe parecera, afinal, tão familiar na fotografia que guardara das
vizinhas, mas estava de tal maneira aborrecida que não lhe atribuiu
importância.
Pôs a roupa na máquina e, no momento em que se preparava para juntar
as calças que usara na véspera, detetou um volume no bolso e tirou de lá o
ursinho da filha. Pousou-o no cesto das molas e depois preparou o pequeno-
almoço. Quando se sentaram todos à mesa, eram a mesma família feliz de
umas semanas antes.
O Artur abriu a porta, enquanto confirmava se tinha as chaves no bolso, e,
antes que o pudesse evitar, a Clara saiu para a rua. A aventura durou apenas
segundos, mas foi o suficiente para pregar um susto aos pais. Quando a
Elisa correu atrás dela, já o Artur a tinha apanhado.
− Podias ter-te magoado! – ralhou o pai com aspereza, mas o que de facto
queria dizer era
Podias ter desaparecido.
Não era no que pensavam todos agora, quando perdiam as crianças de
vista?
Recuperados da peripécia, o Artur despediu-se e foi trabalhar, enquanto a
Elisa recordava à filha os perigos de se afastar deles. Depois, pô-la no bacio
para ver se a experiência corria melhor, mas ela protestou assim que se viu
lá imobilizada. Então, a mãe resgatou o urso do cesto das molas e entregou-
lho, o que resolveu imediatamente o problema. Estava a levantar a mesa
quando ouviu um gritinho da filha e encontrou-a de pé, contemplando o
chichi no fundo do bacio, muito espantada. Elogiou-a pelos progressos,
abraçando-a. A sua menina estava mesmo a crescer.
Preparavam-se para sair quando o telefone voltou a tocar. Uma, duas, três
vezes.
A Elisa hesitou, tinha a filha ao colo e um pé no degrau da entrada, mas
acabou por voltar para trás.
E, desta vez, foi a tempo de atender.
37
O caseiro da quinta chegou a casa das viúvas com um cesto de ovos e
uma galinha do campo já limpa e depenada. Ele mesmo degolava os bichos
sem se atrapalhar, e a maioria das pessoas ficava-lhe grata; metia-lhes
impressão o sofrimento e os espirros de sangue na tijoleira. Até a Glória,
que era rija, deixara de ter estômago para aquilo havia anos. Foi ter com ele
à entrada, para não acordar a Cremilde, e tirou o porta-moedas do bolso
para lhe pagar.
− Parece mentira que ainda não tenham dado com a pequena – lamentou-
se, enquanto juntava o dinheiro na mão.
O desaparecimento da Alice era uma ferida aberta. A Guarda ia passando
e as carrinhas da televisão ainda rondavam a vila, embora com menos
frequência, mas as pessoas continuavam na mesma ignorância.
O homem, que não era de muitas falas, limitou-se a concordar com um
aceno entristecido e, feitas as contas, foi-se embora. A Glória ficou a vê-lo
afastar-se. Cada um com as suas perdas, pensou. Nunca mais lhe vira
companheira desde que a mulher se fora embora, já lá ia meia dúzia de
anos; andava sempre de volta da terra, da criançada e dos bichos. Às vezes,
a Glória punha-se a cismar naquela partida abrupta, custava-lhe a crer que a
mulher se tivesse ido de um dia para o outro, sem se despedir nem dar uma
explicação ao filho, mas depois tirava dali a ideia. Todas as pessoas têm os
seus segredos e mais valia deixá-los em paz.
A Glória continuava a dar-se com as pessoas dali como sempre fizera,
sem apontar o dedo à toa, nem pôr as mãos no fogo por ninguém. Oxalá o
instinto fosse infalível, mas a maldade raramente vem à tona, e o mais certo
era que a Glória passasse pela pessoa que fizera desaparecer a Alice sem
nunca saber.
Arrumou a carne e os ovos e foi para o quintal. Regou as árvores, as
plantas, o talhão das aromáticas, e depois sentou-se, desfrutando da
serenidade. A névoa fina que vestia a manhã começava a dissipar-se,
juntamente com as inseguranças que lhe ensombravam o pensamento, e o
sol anunciava um dia quente.
Ao tropeçar nos incómodos do passado, a Glória chegou à conclusão de
que fizera o que fora preciso para proteger uma grande amiga. Não se
orgulhava das suas ações, mas não lhe restara alternativa e, se voltasse
atrás, faria tudo de novo. O Amílcar era um aproveitador, um parasita que
se alimentava do medo e da dor que infligia à mulher, e havia um certo
sentido de justiça na sua morte.
Algumas pessoas não faziam mesmo falta nenhuma.
Nesse dia, o desfecho desencadeou-se em poucos minutos.
O Amílcar não se deixou intimidar pelas ameaças da Glória, virou-lhe
costas e avançou para a Cremilde. A Glória não viu a expressão dele
transformar-se num misto de surpresa e agonia, e não soube se ele se
chegara a arrepender. Preparava-se para lhe acertar com a enxada na cabeça
quando ele subitamente cambaleou, deu um passo para trás, tentou segurar-
se à mesa, mas faltaram-lhe as forças, os dedos desprenderam-se do tampo,
devagar, e caiu com um estrondo. O sangue foi alastrando num charco
viscoso pelo mosaico. A Cremilde empunhava a faca ensanguentada, que
lhe tremia nas mãos, a mesma que a Glória usara para estripar o peixe
momentos antes e que ela escondera no xaile, à cautela, antes de o Amílcar
entrar na cozinha. E talvez a Cremilde estivesse tão revoltada que naquele
dia houvesse perdido a lucidez, ou, pelo contrário, tivesse finalmente
despertado do pesadelo em que vivia havia anos.
A Glória aproximou-se, mas levou uma eternidade a reagir. Quando se
agachou para o tentar socorrer, o Amílcar já estava morto.
Olharam uma para a outra, embasbacadas, e, após uma indecisão tão
breve que não deixou marcas, a Glória percebeu o que tinha a fazer. O
ataque fora em legítima defesa, mas o seu testemunho decerto não
impediria que a amiga sofresse as consequências dos seus atos, sobretudo
numa época em que as leis favoreciam os homens e as mulheres eram uma
espécie de utensílio doméstico e reprodutivo, um mero enfeite. A Cremilde
podia alegar o que entendesse, repetir a verdade até perder o fôlego, que
dificilmente conseguiria provar que atacara o marido para se defender.
Ainda diriam que ela premeditara o homicídio para se livrar dele. Ninguém
teria em conta a sua versão da história nem as circunstâncias do crime.
Para começar, não havia testemunhas efetivas dos maus-tratos. A
vizinhança por certo suspeitava, não faltavam sintomas: a Cremilde movia-
se como uma condenada, passinhos medidos, olhos postos no chão, as
nódoas negras a aparecerem nos intervalos da roupa, dos xailes compridos,
a renascerem a cada dia; o chinfrim que ele fazia quando chegava a casa, a
esbarrar nas paredes como se as divisões tivessem mudado de sítio, a
calcular mal as distâncias, a tropeçar nos móveis, a gritar
puta,
tantas vezes puta.
Era impossível ignorar, mas talvez se desobrigassem, cada um com os
seus problemas, e para quê pedirem mais alguns emprestados? O Amílcar,
tão falso como uma joia de pechisbeque, cintilava com bom nome na praça,
as pessoas admiravam-no, arranjavam argumentos para não se meterem na
vida alheia.
A Glória não podia perpetuar o sofrimento da amiga e vê-la definhar
numa prisão, como uma delinquente. Não discutiram o assunto, ela tomou a
decisão e a Cremilde ficou, de certa forma, aliviada.
Trataram de tudo durante a noite.
A Glória encabeçou o plano, as forças vieram-lhe não sabia de onde.
Explicou tudo à Cremilde e juntas enrolaram o cadáver numa carpete;
nenhuma delas conseguia olhar para ele, ali estirado, de olhos abertos, a
lembrá-las do que acontecera. Foram buscar luvas, esfregões, lixívia, e
começaram por limpar a cozinha. A casa ficava num ermo, não havia
vizinhos pegados que as surpreendessem àquela hora, mas não podiam
facilitar e esperaram pacientemente pelo início da madrugada para tratarem
do resto. Serviram-se do carrinho de mão que estava atravessado no pátio e
arrastaram o corpo para as traseiras do terreno, aos solavancos, com um
esforço sobre-humano, porque o homem parecia ter engordado depois de
morto. Dirigiram-se ao antigo galinheiro que estava para ser convertido
num horto, pegaram em pás e escavaram uma cova. Juntaram-lhe um resto
de cal, que sobrara de uns rebocos feitos numa parede, para acelerar a
decomposição e disfarçar o cheiro, e enterraram-no ali mesmo, à pressa,
sem desperdiçarem palavras. Mais tarde, a Glória cimentou o chão e
começou a encher compulsivamente o espaço com vasos, como se fosse
uma extensão do jardim, o que de certo modo atenuou o ambiente sinistro e
ajudou a camuflar as lembranças.
Regressaram ao interior da casa para destruírem o resto das provas.
Primeiro queimaram o cinto, a Cremilde ficou a vê-lo arder com uma ligeira
satisfação. Lavaram a faca, embrulharam-na em jornal e desfizeram-se dela.
Acabaram de limpar a cozinha, ao pormenor, com medo de lhes escapar
algum vestígio: móveis, paredes, cantos; esfregaram o soalho de ponta a
ponta, com baldes de água e lixívia, até não restar nem uma pinga de
sangue à vista. Desinfetaram tudo em que ele pudesse ter tocado, incluindo
o batente da porta. Estavam exaustas, mas essencialmente aliviadas.
Percorreram o espaço minuciosamente e parecia-lhes imaculado. Ainda
assim, permanecia um cheiro a morte no ar do qual não conseguiam livrar-
se.
Faltava apenas justificar o desaparecimento do Amílcar.
Pouco antes do amanhecer, a Cremilde equipou-se e dirigiu-se à costa,
para executar a última parte do plano. Usava luvas e galochas de aspeto
grosseiro, as suas formas delicadas desapareciam dentro do impermeável, o
cabelo e o rosto aninhavam-se no chapéu e, ao longe, estava irreconhecível.
Assegurou-se de que não havia gente por perto. Lá em baixo o mar
espumejava contra as rochas, arreliado, e a Cremilde facilmente se
convenceu; a queda podia ser fatal, ninguém o contestaria. Encheu-se de
coragem, pousou o equipamento de pesca e montou o cenário.
Depois regressou a casa, conforme combinara com a amiga. Livrou-se da
indumentária, vomitou uma aguadilha azeda que trazia no estômago e
lavou-se. Por fim, meteu-se na cama, mas, apesar da fraqueza, não
conseguiu adormecer.
A teoria brotou espontaneamente.
Toda a gente achou que o mar engolira o Amílcar e, ao fim de algum
tempo, perderam a fé de que o corpo desse à costa.
Nos dias seguintes, como que ganhando real consciência do que fizera, a
Cremilde chorou, sem qualquer fingimento, a morte do marido.
No quintal da Glória nasceram novas plantas e flores, e o limoeiro
cresceu vigoroso. O velho galinheiro rejuvenesceu, tornando-se um
santuário florido que ela se incumbia de preservar. Era como se aquela
beleza, que despontava à superfície, se sobrepusesse à leviandade dos seus
atos. Mas a Glória nunca se libertou do que fez, e quanto mais flores
cobiçava mais a culpa ganhava terreno. O desaparecimento da Alice operou
uma revolução silenciosa, confrontando-a com as suas próprias maldições, e
talvez estivesse na hora de acertar contas consigo mesma.
À exceção dos primeiros tempos, as duas viúvas raramente falavam no
assunto, para não acentuarem o trauma, e o medo de serem apanhadas só as
largou com o avançar da idade. A Glória conformou-se finalmente com o
que fizera para salvar a amiga. As memórias da Cremilde flutuavam e, com
a progressão da doença, eram cada vez mais remotas e emaranhadas, o que
nem sempre era mau. Já não se lembrava sequer da morte do marido, e a
Glória sentia-se descansada por assim ser. Se a doença se apropriava do que
ela tinha de melhor, que levasse também o que não prestava.
Por isso, sempre que a Cremilde falava do Amílcar, a Glória contava-lhe
a história que inventaram naquela noite, e repetia-a tantas vezes que lhe
seria fácil acreditar nela.
38
– Estou a morrer – o António confessou por fim, pousando a caçadeira.
Tornou-se tudo claro como água.
Só naquele momento decisivo percebeu que não haveria discurso, nem
acusações, nem qualquer final apocalíptico, e sentiu-se estranhamente
aliviado. Durante a noite apetecera-lhe acabar com tudo, dois tiros certeiros,
talvez guardasse um para si porque não ficava ali a fazer nada, julgara que a
febre que o consumia era de vingança, mas aquela dor não tinha fim. A
matança não lhe traria descanso e para banhos de sangue já bastava o
Jeremias ter endoidecido e exterminado a família, deixando o filho mais
novo para semente. Um homem é muito mais do que aquilo que fazem dele,
e o António era bom por natureza, apesar de a vida lhe ter mostrado que a
bondade não era condição para ser feliz. De nada lhe servia apressar a
morte nem desperdiçar os últimos meses de vida encarcerado, ou
corrompido pelo ódio, que era outra espécie de prisão. Pegou no que
sobrara do passado e levou-o consigo para não morrer sozinho.
A Josefa suspirou profundamente, mas o alívio do momento deu lugar a
uma sensação desconhecida. Não esperava aquela reviravolta, uma notícia
tão trágica atirada, assim, à queima-roupa, como uma bala a trespassar-lhe o
coração que ainda devia andar por lá, fora do lugar. Havia muito que não
pensava no António, que não o levava a sério como companheiro, e isso
tanto a surpreendeu quanto a desolou. Atribuíra a magreza dele aos maus
hábitos, tantas vezes lhe ralhara severamente sem supor que dali viesse
grande mal, mas devia ter prestado mais atenção aos sinais; aquela tosse
persistente só podia ser mau agouro.
A doença entranhara-se como uma nódoa num pano bom e alastrou em
pouco tempo. Um dia o António sentiu uma dor nas costas e não ligou,
convencido de que era ou fruto da idade, ou do desgaste nas obras. Deixou
passar umas semanas, confiando que melhorava, mas aquela dor sempre a
incomodá-lo, impossível de desprezar, bastava andar mais uns metros para
perder o fôlego. Não deu importância ao assunto, considerou as hipóteses
mais prováveis daquilo que ouvia dizer, uma contratura ou uma hérnia, algo
que se pudesse tratar, com sorte era despachado com uma pomada e umas
sessões de fisioterapia, porém, ao fim de muitas indecisões, lá se resolveu a
ir ao médico. Não contou a ninguém porque a mulher só ia azucriná-lo com
perguntas e o chefe podia achar que ele estava a amolecer. Mas a
determinada altura fraquejou e desejou ter falado com alguém, porque os
problemas se agigantam se os guardamos só para nós.
Sentiu-se invulgarmente apreensivo na manhã em que a Alice
desapareceu. Dirigiu-se ao hospital para saber o resultado dos exames que
fizera e, quando entrou no consultório, pressentiu logo que a situação era
grave. Nem sequer foi pela cara do médico, que mal conhecia e não fazia
ideia de como costumava ser em momentos destes; se calhar era sempre
assim com toda a gente, nem alegre nem sisudo; percebeu pelo silêncio
severo que se instalou. Convencera-se de que iria morrer do fígado, que
supunha estar feito em papa por causa do álcool, ou quando muito de
velhice, seria tão bom chegar a velho, e, no entanto, cancro do pulmão.
Podia ter pintado a morte de muitas formas, mas por aquela não esperava.
Ele, que nunca na vida fumara, sequer umas passas nas traseiras da taberna,
por curiosidade, nos desafios da juventude, e, afinal, podia beber à vontade,
que não havia problema; não deixava de ser irónico. Despediu-se, fazendo
uma piada de que nem ele nem o médico se riram, adiantando-se com um
aperto de mão antes que fosse preciso tapar os buracos deixados pelo
silêncio. A fingir que estava inteiro quando tudo nele se desfazia por dentro,
as fundações cediam, gastas, apodrecidas, arrastando vigas, paredes, teto; o
António era um edifício a desmoronar-se.
Perdido, irrecuperável.
Aguentou-se porque não sabia exatamente o que sentir, havia alturas em
que os sentimentos eram inoportunos. Precisava de tempo para pensar, e de
espaço, o átrio tornara-se apertado, sufocante, o ar rareava à medida que se
deslocava, e os passos foram ficando mais lentos até deixarem de se ouvir.
Esperou pelo elevador, enquanto se lembrava das sobrinhas, tão jovens e
despreparadas; da falta que sentiria da mulher; das saudades que teria dos
ralhetes da Isaura e de todas aquelas pequenas coisas que o faziam feliz,
porque, na verdade, nunca precisara de muito. Sentia-se sufocar só de
imaginar perder tudo de uma vez e achou-se no direito de conservar as
memórias.
Entrou na carrinha tão atarantado que, logo no primeiro cruzamento, nem
viu o semáforo ficar vermelho e bateu no carro da frente. Julgava que,
quando chegasse a casa, estaria em condições de reunir a família para lhes
dar a notícia, mas o inesperado desaparecimento da Alice interpôs-se e ele
já não pensou noutra coisa. Estava prestes a iniciar os tratamentos, mas não
guardava esperança; o médico fora muito claro quando lhe explicara que o
tumor se espalhara pelos ossos e a cirurgia não era uma opção. Conformou-
se, não teve outro remédio, se bem que de vez em quando uma ânsia, um
aperto no peito.
Não chamou Deus para o caso porque também nunca o convocara para
nada e seria despropositado embarcar em negociações de última hora. A
maioria das batalhas que se travam são interiores. Era inútil procurar
explicações, motivos: havia tantos porquês que nunca teriam resposta, se
soubéssemos tudo não havia nada para conhecer, e era fácil cair na tentação
de questionar, atribuir culpas, protestar das desgraças que ocorriam por toda
a parte, justiças incompreensíveis, a Alice podia estar nas mãos de um
patife e que moral havia nisso, sentido algum, o António poderia sentir-se
defraudado, porque afinal a bondade não levava a lado nenhum, e para quê,
não lhe adiantava de nada, por isso pôs de lado as considerações metafísicas
e serenou. As portas da morte tinham largura para qualquer um; mais dia,
menos dia, chegaria a sua vez.
Perdoou a Josefa, que, numa crise de consciência, virando-se para ele
num silvo adoentado:
– Vamos esquecer o que está para trás, António.
Como se o passado fosse uma velharia da qual pudessem descartar-se, um
recipiente usado que desse para meter num contentor de reciclagem e fazer
dele uma coisa nova.
Já nada tinha importância, nem a verdade lhe trazia consolo.
Fora, de certa forma, feliz sem ela.
Não soube da história da mulher com o padre antes porque não quis.
Desconfiou, na altura em que ficou desempregado, e esse foi o verdadeiro
motivo para ter começado a beber. Fez-se de tonto na esperança de que,
pelo menos, a mulher continuasse a estimá-lo. Acolheu o filho com tanto
afeto que se tornou seu, por direito, perfeito aos seus olhos, apesar da
impostura que veio agora a descobrir; e, ao matá-lo, a Josefa cometeu dois
crimes de uma vez. Uma parte do António morreu nesse dia.
Algumas pessoas são tempestades e às vezes não as sentimos chegar,
despencam em qualquer sítio, varrem o que encontram pelo caminho. Só
naquele instante a Josefa reparou na pilha de destroços que tinha deixado
atrás de si.
Trazia um vazio enorme com ela, das pessoas que perdera e das que fora
tirando do coração, até perceber que não restava ninguém. Tinha saudades
da infância, do tempo em que a vida era simples porque não pensava em
nada, ela e a irmã de pés descalços na terra junto ao rio sem ser preciso
deitar-lhes o olho, os medos para trás das costas, como convinha,
habituadas a pouco, contentes com tudo, a crescerem ao ritmo lento das
estações. E houve outras alturas a que também podia chamar felicidade: o
António viu nela algo de bom, a Mariana foi uma bênção, e quando a Alice
nasceu a Josefa quis mudar, voltar a ser quem era, mas tanta coisa se meteu
pelo meio que já não conhecia o caminho de volta.
Envolveu-se com o padre não porque lhe faltasse amor, atenção, o
António sempre lhe dera mais do que ela merecia; mas pela aventura. Um
dia reparou na forma como ele olhava para ela, sem inocência, quase um
descaramento, e no começo acanhou-se, mas deitava-se a pensar nele, nem
nos sonhos a deixava em paz, dia após dia sempre no mesmo, bastava
roçarem um no outro para fazer faísca, e não resistiu. Era uma ligação
carnal, proibida, mas que a fazia sentir-se viva. Quando estavam juntos não
havia rotinas, nem obrigações, nem sombra da vidinha enfadonha que
levava; a adrenalina estava sempre em alta, nem que fosse pelo medo de
serem apanhados. Por mais que gostasse do António, com ele nunca sentira
aquele friozinho na espinha, e nem a culpa nem o amor foram suficientes
para pôr termo ao caso.
Mas a relação com o padre era envenenada, trouxe-lhe um filho
moribundo que a encheu de ira e de desgosto, e diria que o matou por amor,
um ato de misericórdia, mas não havia nela senão amargura. Na manhã em
que a Alice desapareceu estivera no cemitério. Tentara ir de outras vezes,
mas, sempre que chegava à porta, as pernas geladas, o coração tão
espalmado que já não cabia mais nada lá dentro. Olhou para a campa
encardida, enfeitada com um punhado de flores mortas que as velhas lá
deixavam por pena nas rondas de domingo. Fechou os olhos e pensou em
muitas coisas, mas não soube o que dizer. E, se julgava que aquela visita lhe
lavaria a alma, enganou-se: voltou de lá atrelada à consciência, sem
imaginar que em breve lhe cairia em cima outra desgraça.
Por fim compreendeu: matou tudo em redor, não sobrou nada. Destruiu as
pessoas que amava por mesquinhez, apropriou-se do que tinham de bom e
despojou-se delas como se fossem lixo; não era digna de contemplações. O
mal que causara era irreversível.
Deixou o padre porque o apanhou, na sacristia, enrolado com a chefe do
coro. Entretanto ficou a saber que o caso se arrastava havia meses, os dois
até estavam juntos na manhã em que a Alice fora vista pela última vez, e
ofendeu-se tanto com a deslealdade que enviou logo uma denúncia
minuciosa à Diocese. A Josefa não percebeu que o padre se fartara dela,
talvez porque lhe começasse a faltar beleza, ou juventude, porventura
encanto. Já não se importava com o falatório, as pessoas arranjavam sempre
algo com que se entreter; perdeu o filho que não soube amar, depois a
Alice, por último o marido, e a sobrinha que criou desprezava-a
profundamente porque nunca lhe pedira muito, tinha a despretensão do tio,
mas ela nunca fora capaz de lhe dar a única coisa que realmente importava.
Já não tinha ninguém. Um dia seria apenas um rumor na língua do povo,
uma lembrança perecível.
– E agora, vai cada um para seu lado? – perguntou-lhe, destroçada.
O António encolheu os ombros.
– Para quê? Tudo o que me resta está aqui, nesta casa, contigo.
Ficaram a olhar um para o outro.
E talvez o amor.
39
Por momentos, o pensamento da Cremilde tornou-se muito nítido, como
se algumas das memórias que julgava perdidas estivessem simplesmente
encaixotadas algures na sua mente. Quando, porventura, destrancava aquele
arquivo clandestino, de forma tão subtil e inexplicável que, se lho pedissem,
não saberia reproduzir, a Cremilde recuperava caras, nomes e lembranças.
Calhou aparecer a Alice.
E primeiro ficou alegre, nasceu-lhe um brilhozinho nos olhos, mas logo
de seguida esmoreceu, porque lhe sentia a falta. Nem sempre se lembrava
de que ela tinha desaparecido, mas ouvia a Glória chorar pelos cantos, o
farfalhar de gente pela vila, tanta tristeza junta e, de vez em quando,
deixava-se levar pela melancolia. Dirigiu-se à cómoda e pegou na caixa de
música esquecida entre uma miscelânea de bagatelas que acumulava sem
saber porquê. A Glória dizia que era simples pô-la a tocar, bastava dar-lhe
corda, ensinava-lhe os gestos, e havia alturas em que a Cremilde o fazia
automaticamente, como se fosse intuitivo ou tivesse decorado os passos;
mas, quando se baralhava, qualquer esforço se tornava esgotante. Deu corda
ao pequeno baú de madeira com movimentos lentos e desajeitados,
levantando a tampa, impaciente. As primeiras notas musicais espalharam-se
pelo quarto e a bailarina começou a girar. A Cremilde aproximou o rosto
para a apreciar melhor e, com os olhos brilhantes e maravilhados como os
de uma criança, seguiu avidamente o seu rodopiar mecânico.
E então lembrou-se.
Não tinha noção de quando acontecera, os anos e os minutos eram fiapos
de tempo ensarilhados na sua memória, mas estava tudo adormecido
naquela música. Ao escutá-la, a Cremilde despertou como se fosse também
um mecanismo emperrado a precisar de corda e, inesperadamente,
recuperou trechos daquela manhã enevoada.
O dia em que a Alice desaparecera.
Acordara desassossegada. O passado fora ter com ela, entorpecido como
um velho à espera da morte. A Cremilde deambulou pelo quarto,
apoquentada, a revirar as gavetas ao acaso, como se procurasse algo que
perdera. Vestia uma camisa de dormir de flanela, e os cabelos desalinhados
faziam lembrar os galhos crespos de uma árvore no inverno, mas não lhe
apeteceu arranjar-se. Quando se cansou de remexer as gavetas do quarto,
passou à cozinha. Na mesa encontrou um tabuleiro com pão e sumo, e no
quadro dos avisos lia-se «tomar o pequeno-almoço», mas também não lhe
apeteceu comer. Chamou pela Glória, procurou-a pela casa e irritou-se por
não a encontrar. Talvez ela lhe tivesse dito que ia sair, qualquer coisa sobre
uma consulta no médico, não tinha a certeza; a Cremilde desorientava-se
facilmente e sentia-se mais tranquila quando tinha a amiga por perto. A
Glória era das poucas pessoas de quem ela parecia não se esquecer, talvez
por se conhecerem desde jovens, terem passado por muito juntas e sempre
se terem dado bem. A Cremilde sentou-se de frente para o jardim, a olhar
para as flores como quem olha para uma parede, desapaixonada e
aborrecida; o cheiro lembrava-lhe mortos.
Precisava de espantar aquele nervosismo. A Glória costumava levá-la a
passear, para desemperrar os músculos e espairecer, já que o fedor da
vacaria era sempre o mesmo. Davam um giro pelo centro da vila ou faziam
uma pequena caminhada pelo passadiço até à praia. Às vezes, a Cremilde
contentava-se em assistir ao rebolar das ondas; a maresia tendia a apaziguá-
la quando lhe trazia de volta o aconchego da infância. Sempre que se
cruzava com alguém, sorria, tirava um nome da algibeira, quase sempre
Carlos ou Manel, se lhe faziam lembrar os irmãos que perdera no naufrágio,
dois moços robustos e vistosos, e Cidália, por causa de uma prima que
morrera de pneumonia na juventude. Quando não estava com disposição
para andar ou as pernas se recusavam a obedecer-lhe, a Cremilde perdia-se
no tempo e ficava apenas a contemplar as vacas a desfilarem no campo, ou
os carros a passarem na estrada, com a mesma indiferença.
Estava tão inquieta que se cansou de esperar pela amiga. Levantou-se,
desencostou o portão e saiu conforme estava. Pôs um pé fora do passeio e
deu dois passos para diante, desacautelada, porque na sua mente não havia
estradas alcatroadas, antes caminhos de terra, carros de bois, lavradores de
pele queimada, as casas despegadas umas das outras, crianças de pés sujos
empoleiradas no muro da quinta, os barcos sobretudo a voltarem, um risco
azul no horizonte a tecer uma franja do mar.
Começou a atravessar a rua sem se aperceber da carrinha que avançava na
sua direção, igual a tantas outras que andavam por aquelas bandas. O
condutor buzinou insistentemente à medida que se aproximava, gesticulou
pelo para-brisas, mas ela continuou a andar devagarinho, um chinelo a
arrastar-se atrás do outro, a cabeça alheada, caminhando para tantas coisas
que já não eram. Pareceu-lhe ouvir um grito, e só quando atingiu o meio da
rua se deu conta de que era seu. A carrinha contorceu-se para se desviar
dela, passando-lhe tão rente que ela sentiu um bafo quente na pele, e depois
fez uma pirueta e travou a fundo, enredando-se numa nuvem de pó. A
Cremilde despertou do transe e olhou bem para o condutor. Já o vira mais
vezes, uma cara quase igual às outras, e na cabeça dela tantos nomes,
especialmente Carlos ou Manel, mas não, nenhuma parecença com eles,
uma espécie de Amílcar, um ar de malícia, a mesma escuridão nos olhos,
daquelas pessoas que se aproximam em bicos de pés para nos apanharem
pela calada. Reparou numa criança sentada no banco de trás, de olhos
esbugalhados e mãos espalmadas no vidro. E primeiro julgou que era a
Mariana, eram tão parecidas, mas depressa desfez o engano. Teve a
intenção de lhe acenar, mas ficou com a mão levantada no ar sem saber o
que fazer com ela, parada no meio da estrada, enquanto a carrinha retomava
a marcha e se esfumava à sua frente.
Foi a última vez que viu a Alice.
A Cremilde levou as mãos à cabeça, medindo a importância das
recordações que sobrevinham, descarriladas, porque às vezes lhe parecia
que sonhava e nem sempre distinguia o sonho do que era real. Aqueles
lampejos eram imprecisos, voláteis; e, ainda que conseguisse segurar as
lembranças e relatá-las com alguma coerência, sem que as palavras e as
ideias mudassem de sítio, toda a gente ia dizer que estava alucinada. E
talvez. Ultimamente a cabeça parecia andar aos trambolhões e já não
confiava em si mesma.
Quem sabe pudesse mudar o curso dos acontecimentos naquele instante,
bastaria contar o que vira. Chamou pela amiga, mas não obteve resposta.
Sentiu-se impotente, inútil como a velha desmiolada que lhe roubara o lugar
ao espelho. Procurou o telefone, mas não o encontrou, as coisas nunca
apareciam quando precisava delas. Entrou na cozinha e acercou-se do
quadro onde estavam os contactos urgentes e as recomendações. Pegou no
marcador e começou a escrever; já não se entendia com os pontos do croché
nem com o ferro de engomar, mas ainda ia casando as letras. A caneta
movia-se devagar, bastavam duas ou três palavras simples, porque as mais
complicadas desmanchavam-se depressa, mas o nome dele nem Carlos nem
Manel, uma espécie de Amílcar. Já o vira noutras ocasiões, quase sempre de
passagem, com aquele sorriso matreiro a acender a memória do defunto que
não se lembrava de ter enterrado. Sempre um cheiro a flores de volta dela,
pegado à roupa e aos lençóis como naftalina. Estava muito perto da
resposta, sentia-o como um calafrio, se pelo menos descobrisse de onde o
conhecia, se o visse por aqueles lados, ou nem que fosse num retrato, talvez
o pudesse identificar.
Regressou ao quarto, desnorteada, à procura da caixa de fotografias que
guardava com algumas relíquias afetivas para se atrelar ao tempo.
Encontrou-a numa prateleira e esvaziou-a, com as mãos trémulas, deixando
cair as fotografias ao chão. Apoiou-se na cómoda e ajoelhou-se para as
apanhar, embaralhando-as, misturando caras e nomes e sítios que conhecia
desde pequena, e, em segundos, só figuras duvidosas estampadas no papel.
A Cremilde esbatia-se como um retrato antigo.
A recordação arrefeceu. O interruptor desligou-se e a Cremilde já não
sabia no que estava a pensar nem porque tinha as fotografias nas mãos.
Largou-as, desinteressada, e devolveu a atenção à caixa de música, que
entretanto parara de tocar. Não sabia porquê, mas algo se transformava nela
sempre que escutava aquela melodia; era como se lhe trouxesse de volta a
meninice. Ao rodar o manípulo, ouviram-se os primeiros acordes e a
pequena bailarina deu início ao espetáculo. A Cremilde ergueu os braços no
ar, imitando-a, e foi rodopiando pelo quarto, leve, solta, sem nada que a
prendesse a coisa alguma, a esvoaçar ao som da música.
Numa das fotografias que se espalharam no chão aparecia a Alice
e, ao longe, o homem que a levara.
No quadro da cozinha restava um emaranhado de letras.
40
Pouco depois de desligar o telefone, a Elisa entrou na tasca com a filha
pela mão. Encontrou a Isaura na azáfama de sempre, num corrupio entre o
balcão e as mesas, e foi ter com ela.
A sua chegada deixou os clientes ao balcão intrigados, pois havia muito
tempo que não a viam por ali e tinham o faro apurado. Trocaram
comentários, de ouvido alerta, mas a Elisa falou tão baixo que não deu para
matarem a curiosidade, e o burburinho foi encrespando em torno dela.
O professor apagou o cigarro na rua e entrou logo a seguir. Retomou os
hábitos assim que se viu fora do hospital e, esquecida a sova que lhe deram,
tudo voltou ao que era antes ou quase. Pediu de beber à Isaura, enquanto
observava a Elisa sem curiosidade, como quem olha por olhar; era a criança
que lhe despertava interesse. Quando a certa altura os seus olhares se
cruzaram, sorriu-lhe, e ela sorriu-lhe de volta. Se a mãe não a tivesse bem
presa pela mão, talvez até tivesse ido ao encontro dele. O professor sempre
tivera jeito com os miúdos.
A Isaura estranhou a visita, mas encaminhou a Elisa para a cozinha, onde
ficaram a salvo da confraria de bisbilhoteiros. Não havia muita confiança
entre elas, tinham-se visto uma dúzia de vezes, quando muito, mas a
Salomé estava em reuniões no colégio e a Elisa não se lembrou de mais
ninguém a quem pudesse recorrer àquela hora. Ficara tão incomodada com
a chamada que recebera momentos antes que mal podia esperar para contar
ao marido. Pediu então à dona da tasca o favor de olhar pela filha, e a
Isaura, não sendo de se meter na vida dos outros, prontificou-se a fazê-lo
sem pedir explicações.
A Elisa despediu-se da Clara, prometendo-lhe que não demorava, mas ela
começou a choramingar assim que pressentiu a sua ausência. A mãe
lembrou-se do ursinho com que estivera a brincar no bacio e tirou-o da
carteira para a acalmar. Foi instantâneo: a Clara esqueceu as lágrimas e
agarrou nele, sem reparar que a mãe se preparava para sair discretamente.
Mas a Isaura impediu-a.
Segurou-a pelo braço com um repelão, de uma forma quase feroz. Depois
pegou no boneco para o ver melhor, deu-lhe uma volta, depois outra,
verificou duas ou três vezes a inicial que estava lá gravada, e, ainda assim,
não se convencia, não queria acreditar, mas não havia a menor dúvida.
E, por fim, perguntou-lhe num sussurro que quase se desfez por entre a
vozearia da tasca:
– Mas onde é que encontrou isto?
41
Andavam todos à procura da miúda como uns tontos e, se calhar, a
resposta ali tão perto.
Demasiado perto para alguém acreditar que fosse verdade.
Assim que se encontrou sozinho, sentou-se e deixou pender os braços,
cercado pelas recordações que guardava em segredo.
Ninguém sabia que vira a Alice na manhã em que ela desaparecera.
Passava na rua quando a viu sair de casa e decidiu parar. Foi portanto um
acaso. Ou talvez não; afinal, andava de olho nela fazia tempo e, de uma
forma ou de outra, o momento acabaria por se proporcionar. A Mariana
ainda estava ao portão, a acenar-lhe. Esperou que ela entrasse, olhou em
redor, o caminho ficara livre. Sabia exatamente o risco que corria só de
olhar para a miúda, mas estava tão empolgado que não via mais nada à
frente. O coração atirava-se desgovernado contra o peito, cada músculo
como que feito de pedra, a excitação a alastrar que nem fogo no capim. Foi
instintivo, acelerou na direção da criança como uma ave de rapina.
Ela não o viu aproximar-se, ia distraída a saltitar pelo passeio com o
bonequito a badalar no fecho da mochila. No trajeto, seguiu todas as
recomendações da mãe, sabia-as de cor:
andou com cuidado;
atravessou na passadeira;
não falou com estranhos.
Mas até as advertências têm falhas.
Ele encostou a poucos metros de distância, junto a umas silvas, o motor
era suave como o ronronar de um gato e a Alice não deu por nada. Ajeitou
os óculos de sol e resguardou-se. Outros carros passaram por ele e, por
sorte, ninguém conhecido, mas também seria difícil identificá-lo naquelas
circunstâncias. Deteve-se uns segundos a observá-la, enquanto se debatia
com os assaltos da consciência. Ainda estava a tempo de dar meia-volta,
fazer de conta que não a vira, tomar a decisão certa. Era a oportunidade de
provar a si mesmo que lhe restava um pingo de integridade. Sempre achara
que saberia quando parar, mas, por vezes, uma lava empurrava-o
vertiginosamente para o mal e os pequenos avanços já não o satisfaziam
como antes. Não lhe bastava ver a Alice, fantasiar com ela, já não se
contentava com fotografias, troféus, carinhos quase inofensivos.
Queria qualquer coisa mais.
E talvez tivesse chegado o momento de escolher.
42
Saiu da tasca a correr, horrorizada com o cenário que se começava a
compor. As peças foram-se encaixando, pontas soltas em que ia tropeçando
de onde em onde, indícios microscópicos que antes descurara, e a Elisa
começava finalmente a fazer delas uma coisa com sentido.
O Artur tinha razão, havia pessoas capazes de tudo, em qualquer parte,
tão dissimuladas que, se estivessem ao nosso lado, não conseguiríamos
apontar para elas.
Pediu ao marido que fosse ter com ela a casa e ele ainda fez perguntas,
preocupado, mas pôs-se logo a caminho. A Elisa respirou fundo e sentou-se
na beira da cama à espera dele.
Assim que o ouviu entrar, chamou-o ao quarto.
– A Clara? – quis ele saber, apreensivo.
– Ela está bem, não te preocupes. Senta-te.
Ele obedeceu, surpreendido e baralhado; nunca vira a Elisa assim,
autoritária, distante, com uma expressão impiedosa. Não gostava de perder
o controlo da situação, e aquela reação hostil desestabilizava-o. Pôs-se a
pensar e não sabia, não imaginava, se calhar fazia uma ideia, mas dava-lhe
medo pôr a hipótese.
– Descobri o teu segredo – declarou a mulher, perentória, encurtando a
conversa.
– De que é que estás a falar? – perguntou ele, desconcertado, desviando o
olhar.
Mas não precisava de explicações, porque, no fundo, sabia exatamente ao
que a Elisa se referia.
Mantendo uma distância confortável, ela prosseguiu:
– Não tens muito tempo, Artur, a polícia não deve tardar a vir buscar-te.
A Ritinha contou finalmente à mãe o que lhe fizeste durante os passeios de
carro e as brincadeiras à porta fechada enquanto morávamos lá no prédio.
Eu recusei-me a acreditar quando ela me ligou, até caí na asneira de te
defender, que idiotice, achei que era despeito; mas ela tinha relatos muito
precisos, detalhes, como aquele colar que eu julguei que tinhas comprado
para a Clara, e nenhuma criança iria inventar uma história daquelas. Foi por
isso que te quiseste vir embora de Lisboa, não por causa de nós nem das
tretas que inventaste; estavas com medo de ser apanhado. Devo ser muito
estúpida para me teres enganado tão bem. Estou cansada de ouvir falar de
pedofilia em notícias, reportagens, histórias que nos deixam com pele de
galinha. E, às vezes, custa-me acreditar que seja verdade, que existam
pessoas com uma mente tão tortuosa, mas não há como negar. Aqui estás tu,
à minha frente, um monstro. E eu que sempre achei que houvesse maneira
de os detetar, um tipo de faro, pequenos indícios que nos permitissem filtrar
a malícia, as intenções, como se pudéssemos ver as pessoas por dentro, mas
não, nenhuma habilidade nos mostra quem são.
A Elisa julgava que tinha tudo o que queria, mas não passava de uma
ilusão. O Artur era seu companheiro, o pai da sua filha, achava que tinham
uma vida boa juntos e, afinal, tantos sentimentos em campos opostos,
angústia, um friozinho no estômago, o amor lá longe, tudo aquilo que
haviam construído deitado ao abandono. Não entendia como podia ter-se
enganado tanto sobre ele, andado de olhos vendados como uma tonta, ao
ponto de lhe escapar a enormidade que acontecia debaixo do seu nariz. A
conviver com ele durante anos sem conseguir descortiná-lo para além da
superfície polida. A enaltecê-lo, a acatar-lhe as manias, o pudor no sexo,
procurando em si os defeitos, atribuindo as atrapalhações dele ao stresse e
ao que mais servisse de desculpa. Talvez não tivesse feito caso dos sinais,
um interesse desmesurado, proximidade a mais, tantos carinhos
despropositados, rebuçados tirados da algibeira a toda a hora, sempre
achara que ele tinha jeito com os miúdos, mas nunca lhe passara pela
cabeça que fosse mais do que isso.
Às vezes só vemos o que queremos ver.
Poderia aceitar qualquer outra coisa que se metesse entre os dois, mas
aquilo era imperdoável. E, embora lhe custasse acreditar que vivera tantos
anos com um monstro, era pior ignorá-lo. Um predador não mudava, não
desistia, estava-lhe no sangue, e um dia seria −
custava-lhe imaginar que ele o pudesse fazer,
mas talvez, talvez,
a ameaça, ali, tão presente –
a própria filha.
Os pensamentos ensarilhavam-se, tinha de agir, contar a alguém, falar
com um médico para saber se a Clara… a ideia era tão grotesca que lhe
estorvava o raciocínio. Poderia abordar a filha sobre o assunto, mas tinha
medo de a assustar com perguntas esquisitas e ouvira dizer que alguns
abusadores escolhiam crianças assim pequenas porque elas nem percebiam
o que lhes estava a acontecer. A Elisa ficou aterrorizada com a possibilidade
que a torturava. Seria demasiado sórdido, o pior dos crimes, e, no entanto,
os olhares, as cócegas por todo o lado, os banhos demorados, as histórias
para adormecer, as escapadelas a meio da noite em direção ao quarto da
filha com a desculpa de que a ouvira chorar. Os abusos começavam tantas
vezes no seio da família, ou com amigos chegados, tios de estimação,
vizinhos solidários, pessoas acima de qualquer suspeita.
E, ainda que, lá no fundo, previsse que o Artur jamais o confessaria,
advertiu-o, engasgada de raiva:
– Ouve-me bem. Se alguma vez tocaste na Clara, garanto que te mato…
– Na Clara?! – ele insurgiu-se. – Claro que não! Como é que podes pensar
numa coisa dessas? É minha filha, amo-a acima de todas as coisas. Juro-te,
eu nunca…
Mas como distinguir a verdade num lamaçal de mentiras?
O Artur alcançou a inutilidade das suas palavras. Tantas vezes prometeu a
si mesmo que nunca mais se aproximava das miúdas, nunca mais tanta
coisa a que perdeu a conta, tantas promessas em vão, e voltou sempre ao
mesmo.
Quando olhava para trás, na infância só ruínas, pecados, o passado um
estorvo. E quis esquecer, refazer-se, tornar-se um homem melhor, credível,
igual aos outros nas pequenas falhas, com uma daquelas vidas normais,
pequenas, inofensivas; um emprego que lhe ocupasse os dias; família que o
fizesse mudar, porque às vezes as pessoas moldam-se como barro; rotinas
que o pusessem nos eixos; gente em redor, não amigos, que nunca os tivera,
conhecidos, figurantes para encher o cenário; um lugar onde pudesse
recomeçar. Mas ninguém escapa àquilo que é.
Nem ele mesmo sabia quem era.
Ou tinha medo de saber.
Gostava de crianças, quem não gosta?, agradava-lhe pensar que de uma
forma inocente, quase idílica, uma espécie de amor, ia romanceando, mas
tinha consciência das diferenças. Se lhe perguntassem, juraria a pés juntos
que não fizera nada de errado, quando os limites tão bem assentes, nenhuma
dúvida, nenhum encanto no coração; o desejo que nutria era abjeto.
Debulhava o que arranjava nas profundezas da Internet, borrado de medo de
deixar rasto – já vira cenas inimagináveis e em nenhum momento se
considerou um monstro –, mas aos poucos foi ganhando coragem, traquejo,
enquanto rastejava como um verme à cata de presas indefesas – e havia
tantas que se tornava difícil escolher.
Ainda há dias metera conversa com uma, Joaninha ou Luisinha, um
diminutivo qualquer, apenas um ano mais velha do que a Alice. Foram
falando como se fossem amigos e a miúda nem se apercebeu dos detalhes
íntimos que ia revelando enquanto, a escassos metros dali, a avó trocava
mensagens ao telemóvel. Talvez durante uns tempos ele se contentasse com
aquele jogo perverso, engodos on-line, pequenas provocações. Mas um dia
poderia empolgar-se com a possibilidade que despontava na sua mente e ir
atrás dela. A avó costumava levá-la ao parque infantil ao fim da tarde.
Sentava-se num banco do jardim, nem sequer era o melhor ângulo para a
vigiar, porque mais à frente uma árvore de judas intrometia-se no campo
visual, mas jamais lhe ocorreria que pudesse acontecer alguma coisa,
estando ela ali ao lado. Tirava o telemóvel da carteira, punha os óculos,
partilhava uma fotografia da neta nas redes sociais, vejam que bonita,
recebia logo um Gosto, depois uma série deles, estalavam que nem pipocas,
enquanto se inclinava para deitar o olho ao balouço onde a miúda se sentara
momentos antes.
Parecia um dia igual aos outros.
Mas ele, ali tão perto, expectante, calculando o momento certo.
Levava um saco de gomas ou um brinquedo, porque a miudagem
desacautelada caía sempre na esparrela. Dizia-lhe olá, costumava ir ali com
a filha e era natural que passasse despercebido. Ela acercava-se, curiosa,
enquanto a avó respondia aos comentários dos amigos, os dedos vagarosos,
uma tecla de cada vez, à procura de acentos e vírgulas, que não conseguia
escrever mal, esquecendo-se de voltar a espreitar por entre os ramos da
árvore.
E, de repente, o balouço vazio,
para a frente e para trás.
Não era a primeira vez que lhe dava vontade de o fazer.
Sentia o sopro malicioso das vozes que brotavam dentro de si e
imaginava-as pequenas e doces, a rodopiarem em vestidos de folhos, a
primeira vez foi um susto perceber o que era aquilo. Fora há tantos anos.
Ainda que reprimisse os instintos e impusesse barreiras, o monstro voltava
no seu vaguear pérfido, arrasador, e, visto de perto, nem lhe metia assim
tanta impressão; parecia inofensivo. Se estivesse junto de crianças sabia
muito bem do que era capaz, aquele nervoso miudinho a inebriá-lo, estava
sempre a um passo de se exceder.
Via passar as meninas, sentia-lhes o cheiro, afagava-lhes o cabelo,
estendia-lhes a mão, toma lá um doce, anda cá, meu amor, não faz mal.
Tinha medo de dar nas vistas, trair-se com um olhar, uma expressão, uma
palavra fora do lugar, uma ereção inoportuna, sabe-se lá, porque havia
sempre alguém de olho nele e, se desse um passo em falso, estava tudo
perdido. Era difícil esconder a euforia quando se detinha a apreciá-las ou
arranjava maneira de lhes tocar. Uma carícia insuspeita para começar,
pequenas coisas que não se estranham, um abraço apertado chegava a
muitos sítios, a mão a trepar pelo joelho, os dedos a abrirem caminho.
Muitas das crianças nem sequer tinham quem lhes desse valor em casa,
faltava-lhes atenção, carinho, e ninguém vivia sem amor. Talvez por isso se
persuadisse de que a culpa era, afinal, delas, que o tentavam com as suas
vozes meigas, sempre tão carentes, a pedirem doces e afagos. A Alice mal
conhecia o pai, um espaço por ocupar no coração, e não fora difícil seduzi-
la com mimos. Ela gostava das gomas cobertas de açúcar, a Mariana
desconhecia que ele lhas costumava oferecer, às escondidas, trocando
pequenos segredos. Juntava-lhe uma carícia quase inocente, e depois outra.
Saboreava os momentos, tratava de os gravar sem ninguém dar conta, com
um telemóvel nas mãos fazia-se de tudo.
Acordava tantas vezes a meio da noite, encharcado em suor, com o
coração acelerado, em completo desatino, a imaginar que, em vez da Elisa,
debruçava-se sobre ela, deitava-lhe a mão para confirmar,
estava uma das crianças.
A Alice entrou-lhe pelos sonhos e foi ficando.
E, não sabia se por vontade genuína ou pelo medo de ser apanhado, mas
qualquer coisa lhe trouxe o assunto, de novo, à mente.
Se ao menos pudesse mudar.
Tentou, talvez não tivesse chegado mesmo a tentar, mas uma vez pensou
no assunto a sério e resolveu matar-se. Subiu ao prédio onde morava e
atravessou o terraço dos estendais, que lhe lembrou o dia em que a mãe o
descobrira no quintal, por detrás dos lençóis que esperneavam ao vento, a
meter as mãos nas cuecas de uma menina que teria mais ou menos a idade
da Alice.
– Devias ter morrido.
As palavras ainda lhe ecoavam na cabeça.
Transpôs o muro e manteve-se no beiral durante uns minutos, imóvel, a
olhar para a rua, as pessoas tão pequenas lá em baixo, a entrarem e saírem
do prédio ao ritmo habitual, indiferentes ao drama que se adensava dentro
dele. Não tinha o que o prendesse: meia dúzia de colegas que não sabiam
nada sobre ele, um trabalhinho insignificante onde era apenas mais um,
vizinhos refugiados no anonimato, nem a porteira daria pela sua falta.
Bastavam dois passos para se despedaçar na calçada. Mas não teve
coragem. Lembrava-se de ter ouvido dizer que durante a queda se tinha
tempo de pensar, que a vida passava à frente das pessoas como o trailer de
um filme, imaginou o peso dos últimos segundos e desiludiu-se ao rever os
maiores desânimos da sua vida no momento da morte.
Mas depois conheceu a mulher, tão cândida, tão pronta a aceitá-lo
conforme o imaginava, e acreditou que podia mudar. Disciplinou-se,
domesticou a vontade, largou os entretenimentos, esquivou-se das crianças
que passavam por ele na rua, evitou-as como se tivessem a peste. Manteve-
se na linha mais ou menos até a Clara nascer, e nessa altura julgou mesmo
que estava curado, ou redimido, porque a filha o distraía dos maus
pensamentos e uma estranha felicidade contagiava a casa. Mas um dia
apareceu-lhe a Ritinha, a menina do apartamento do lado, e tornou ao
mesmo. Tentara apagar aquelas imagens da cabeça, enterrá-las num
cemitério de memórias, se houvesse algum, mas fraquejou. Todo ele tão
débil em tudo desde pequeno, um frouxo até entre as irmãs, a ovelha negra,
o rapaz esquisito que ninguém queria por perto. O propósito de se emendar
dissipou-se, porque não podia viver em desavença consigo mesmo a vida
inteira e já não se julgava capaz de mudar.
Fugiu de Lisboa com o diabo no seu encalço. Quando chegou à vila sabia
perfeitamente o que estava a engendrar. A certa altura, encheu-se de medo
de que a Ritinha contasse alguma coisa à mãe, mas o segredo parecia bem
guardado, e, aos poucos, o Artur foi recuperando a confiança. Deu voltas
pela rua como um predador, palmilhou terreno, estudou as pessoas,
descobriu-lhes particularidades e vícios, ponderou as oportunidades. Era
importante ganhar a confiança delas, dois dedos de conversa para as
amaciar, conquistar as miúdas com doçuras e falinhas mansas, um rebuçado
a saltar do bolso, toma lá um brinquedo, meu anjo, estás tão bonita,
descobrir por onde andavam, a que horas iam para a escola, quando
voltavam, quais as mais desamparadas, as que não tinham ninguém à espera
delas.
E, agora, ao ver-se confrontado com a verdade, inevitável, previsível
desde aquele dia longínquo em que ele e a mãe se afastaram para sempre,
não viu razão para se continuar a esconder. Tirando a mulher e a filha, não
tinha ninguém, e já nem esse contentamento lhe restava. A Elisa jamais
compreenderia o seu problema, não propriamente uma doença, chamavam-
lhe outras coisas. Ficaria condenado à solidão, talvez o maior castigo de
todos. Se os vizinhos imaginassem o que lhe passava pela cabeça quando
frequentava as suas casas, não durava dez segundos nas mãos deles. E
ninguém poderia culpá-los, às vezes o Artur até preferia que alguém
tomasse a iniciativa de acabar com tudo.
Cobriu o rosto com as mãos, envergonhado, e sem conseguir articular
uma frase,
– Elisa…
Uma lamúria.
De mão estendida como um pedinte.
− Diz-me, o que fizeste à Alice?− perguntou a mulher, bruscamente, sem
se apiedar.
A teoria ganhava consistência. Ele não passava o dia inteiro no stand e
tinha acesso a todo o tipo de viaturas? Bastava escolher. Podia ter apalpado
terreno durante meses, ou desde o instante em que pusera os olhos na
criança. Era suficientemente meticuloso para ter orquestrado um plano e
aguardado pela ocasião certa. Ou podia ter sido atraído pela oportunidade; a
ideia germinava dentro dele e as circunstâncias favoreceram-no, acontecia
tantas vezes. Os pensamentos entrelaçavam-se na construção da cena.
O Artur não se espantou com a acareação da mulher, a Elisa nunca fora
de rodeios, mas as palavras dela magoavam-no, desnudavam-no. Julgava
que se esquecera de chorar, mas uma dor insuspeita a dilacerá-lo,
empurrando-o para tantas recordações.
Tão bonita a Alice.
Não se esquecia daquilo que o padrasto lhe fizera em criança, e seria
incapaz de magoar as suas meninas, tão delicadas, um amor que nunca lhe
haviam dado.
− Nada, não fiz nada – encolheu-se, derrotado.
Se lhe perguntassem, juraria a pés juntos,
afeto, só isso, uma espécie de amor.
E, ainda que se olhasse ao espelho, nem sombra do monstro via.
− Então, como é que tinhas o ursinho que ela trazia na mochila?
A Isaura reconhecera-o assim que o vira, pois mandara gravar a inicial da
afilhada antes de lho oferecer, e a Elisa não encontrava outra explicação
para o peluche ter ido parar a sua casa.
− Aquilo também era dela? Por acaso encontrei um bonequito caído no
chão, mas não fazia ideia de quem era e só o trouxe porque achei que a
Clara ia gostar dele. Foi na noite em que apanharam o professor com a
mochila que, pelos vistos, era da Alice. Deve ter sido tudo atirado para ali
na mesma altura.
O Artur estava seguro de si, não tinham nada a apontar-lhe. A polícia
interrogou muita gente, e ele impávido, a puxar pela cabeça para se lembrar
do que fizera naquele dia, e sim, lembrava-se bem, decorria uma feira
automóvel no Porto, dera um giro pelo salão, testara um ou dois carros,
agendara reuniões. Seria inevitável que lhe viessem com a pergunta, depois
do espalhafato que a velhota fizera por causa da carrinha branca, e a
resposta não deixou margem para dúvidas, só havia duas do género no
concessionário e nenhuma delas fora usada naquele dia. Era a mais pura
verdade. O que não disse à polícia nem a ninguém foi que, de vez em
quando, lhe confiavam viaturas para vender por fora, tudo combinado em
segredo, pagamentos em dinheiro; não era a primeira vez que alinhava em
negociatas e sempre punha uns trocos de parte para pagar as distrações e o
carro novo. Mas nem a mulher sabia disso.
– Para de mentir, não acredito numa palavra do que dizes; estou farta das
tuas intrujices. Descobri que tens outra conta e não faço ideia de onde vem
esse dinheiro. Aquela chave que há tempos trouxe da lavandaria
desapareceu, misteriosamente, embora me tenhas dito que não era tua. Às
tantas tens a miúda trancada num sítio qualquer, sei lá.
O Artur não foi capaz de disfarçar a surpresa ao perceber o quanto a
mulher sabia sobre ele, mas insistiu:
– Estás enganada, não tenho nada a ver com o desaparecimento da miúda.
– Escusas de fingir, não me comoves com esse ar de sonso. Conta-me o
que lhe fizeste, para termos sossego. Pensa na Mariana, nos tios, toda a
gente angustiada, sem saber nada da Alice, calcula o sofrimento extremo
que lhes estás a causar.
– Não fiz nada, dou-te a minha palavra de honra.
Poderia jurar a pés juntos.
Sem se descompor ou comprometer a expressão.
A Elisa não esmoreceu, não lhe deu o benefício da dúvida, pelo contrário,
a palavra dele não valia nada, quanto mais o marido se defendia mais
vontade tinha de o atacar. Ainda guardava alguma esperança de descobrir o
paradeiro da criança, mas nem virando-se do avesso conseguiu que ele
admitisse a culpa.
E chegou finalmente ao limite.
Talvez demorasse meses, anos, até se descobrir o que acontecera à Alice,
ou então o caso arrefecia, como tantos outros. Ela podia estar enclausurada
ou mesmo morta em qualquer parte, ninguém sabia, ninguém se atrevia a
dizê-lo e, ainda que o Artur fosse culpado, podia passar o resto da vida
impune. A Elisa não podia pactuar com os crimes do marido: se não o
denunciasse, estaria a oferecer-lhe o seu silêncio de cumplicidade,
carregando as culpas com ele; não lhe restava hipótese senão entregá-lo à
justiça.
Mas sabia exatamente o que ia acontecer.
A polícia interrogara o Artur e, aparentemente, não recaíam suspeitas
sobre ele. A queixa da Ritinha seria suficiente para o entalar, mas os
tribunais estavam apinhados de casos horrendos que se arrastavam durante
anos a fio. A justiça tarda e muitas vezes falha. O Artur era astuto e
manipulador, mostrar-se-ia cordato, submisso, arrependido. Na melhor das
hipóteses passava uma temporada na prisão, penava durante uns anos,
levava uns corretivos valentes, fazia umas sessões de terapia e talvez os
especialistas não vissem que ele estava tão estragado que jamais teria
conserto. Porque dizem que é uma parafilia, um distúrbio, uma compulsão,
arranjem-lhe os nomes que quiserem, mas o instinto é perverso e não se
deixa domar. Mais dia, menos dia, o Artur sairia em liberdade munido de
novos artifícios, técnicas refinadas, sem peso na consciência, porque cada
um vê o mal à sua maneira; e voltaria ao mesmo, quisesse ou não, estava na
sua natureza.
Olharia para as crianças que passavam por ele na rua, no supermercado, e
primeiro de relance, olhos baixos e caladinho para não levantar suspeitas.
Porque só de passar ao lado delas tremuras, o coração aos pulos, a
respiração descontrolada, uma voragem a incendiá-lo. E, no entanto, sempre
composto, simpático, um rosto familiar, sem nada que o expusesse. Era
cauteloso, paciente, teria aprendido com os erros, saberia esperar pelo
momento certo. Se ganhasse a confiança delas, era meio caminho andado;
deixavam de o ver como um estranho e esse era o maior perigo.
Porque um dia,
a qualquer hora,
ele iria aparecer, adoçar a voz para as atrair com um ardil qualquer e
ninguém podia prever quantas vidas o Artur continuaria a arruinar. A
quantas crianças teria deitado as garras sem que ninguém se apercebesse?
Quantos pais teriam aconchegado os filhos na cama, à noite, o ursinho na
almofada, mais um beijo, um abraço, dorme bem, meu amor, apagando o
candeeiro que eles insistiam em manter aceso, e porquê?, não há monstros,
isso é nas histórias, e, de facto, nada escondido no armário, nem atrás da
porta, como a Salomé comprovava à filha, debaixo da cama só os chinelos;
os monstros lá fora, a desfilarem na rua, disfarçados de pessoas comuns.
A Clara nunca estaria em segurança perto do pai. E a Elisa não podia
expô-la ao perigo e viver em estado de alerta no seu próprio lar, sabendo do
que o Artur era capaz.
Estava num ponto sem retorno.
As mãos dele na filha, era só no que pensava.
Aquela inquietação de não saber.
A Elisa tinha de se certificar de que ele não voltava a fazer estragos.
Estava na hora de remediar aquilo que, por ingenuidade, lhe passara ao
lado.
− Pensa na Clara, quanto mais não seja. Ainda que fales verdade, podes
mesmo garantir que nunca lhe farias mal?
Às vezes as palavras são pedregulhos que desabam sobre nós.
O Artur arregalou os olhos, mas não teve nada a dizer.
O risco era ingovernável.
– Ainda estás a tempo de escolher − prosseguiu a Elisa, levantando-se. –
Mesmo que eu ficasse calada, a mãe da Ritinha não descansaria enquanto
não te metesse na cadeia. E sabes bem o que acontece às pessoas como tu
por lá; nunca mais têm sossego. Hás de amargar cada minuto que lá
passares. Isto se a vizinhança não te apanhar primeiro; fizeram do professor
um frangalho por muito menos. Pensa bem, Artur, é a tua última
oportunidade, não tens estofo para aguentar a prisão. E mesmo que, por
algum milagre, resistas e um dia te deixem sair, vais ter sempre alguém no
teu encalço. Nunca serás livre.
Inclinou-se sobre ele e segredou-lhe qualquer coisa ao ouvido.
Depois olhou para ele uma última vez.
– Vou chamar a polícia – alertou-o.
E então saiu, trancando a porta do quarto.
Pegou no telefone, mas voltou a pousá-lo.
O Artur nem se mexeu, estava encurralado. Por mais que negasse, não
tinha como se defender do que fizera à Ritinha; nenhum juiz acreditaria na
sua inocência, sobretudo se ouvisse os relatos da miúda. E isso era meio
caminho andado para o acusarem do desaparecimento da Alice. O boneco
não provava nada, podia ter ido parar às mãos da Clara de muitas maneiras
− o professor também fora apanhado com a mochila e continuava à solta.
Não existiam provas consistentes contra si, mas havia sempre muito por
onde pegar. A Elisa estava certa, concordou, ele não tinha fibra para
aguentar a prisão, só a ideia o apavorava, não duraria dois dias atrás das
grades. Quando virasse costas já lhe estavam a limpar o sebo, porque
ninguém tolerava pedófilos. Não tardariam a marcá-lo como violador e
assassino, mesmo que não fosse verdade, fazendo dele um exemplo. Nem
sequer podia alegar que perdera o juízo para o meterem numa ala
psiquiátrica, porque de tolinho nada. E tinha os seus fantasmas, quem não
tem, mas ninguém daria valor à historieta de um depravado. Não tinha
como escapar. As pessoas na vila eram rancorosas e dadas a crendices;
haviam de lhe rogar pragas e deixar galinhas mortas na encruzilhada do
cemitério só para ver se lhe pegavam algum mal. Não descansariam
enquanto não lhe enfiassem uma bala na cabeça ou o atropelassem à porta
de casa, como que por acidente, celebrando a sua morte com descaramento,
e ainda lhe cuspiriam na sepultura. Mesmo que sobrevivesse à cadeia e à ira
dos vizinhos, e arranjasse forças para, dali a uns anos largos, recomeçar
longe daquela terra, não havia nada nem ninguém à sua espera em parte
alguma: nenhuma das crianças com quem se cruzara durante a vida, nem
sequer a Alice, cujo rosto se começava a desvanecer, como todas as outras.
E perguntou-se se naquela manhã tomara a decisão certa, porque a
determinada altura,
Alice,
o nome dela pronunciado baixinho, quase um sussurro, chamou-a?, é
possível, abriu-lhe a porta?, parecia que a via flutuar na sua direção, como
em sonhos, uma distância tão curta para a vida real, imaginava tantas coisas
que já não sabia se tinham mesmo acontecido.
Mas isso já não importava para nada.
Aquela era a sua última oportunidade de fazer algo decente.
Salvar a filha de si mesmo.
Emendar-se de vez.
Fez-se forte, pôs-se de pé, o corpo inteiro a chocalhar como se acometido
por um febrão. Desapertou o cinto e deslizou-o pelas presilhas, trémulo,
com os dedos de uma criança. Lembrou-se das palavras que a mãe lhe
deixou de herança,
devias ter morrido,
e nunca fez nada que lhe agradasse, mas podia finalmente satisfazer-lhe o
desejo.
Fechou os olhos, e nenhuma recordação que prezasse, nenhum trailer
comovente, a mulher e a filha cada vez mais distantes, no último capítulo, a
queda tão grande e nem sequer uma espécie de amor que pudesse levar com
ele.
Nunca mais.
43
Os dias encolheram, arrefeceram e trouxeram os primeiros sinais de
outono. E, apesar de a manhã despertar lá fora com todos os ruídos que
viviam nela, nada permanecia igual.
As crianças regressaram à escola e voltaram a brincar livremente na rua,
munidas de regras e advertências, pois os pais sempre em cuidados, mas
ainda olhavam para trás de vez em quando, com medo do que pudessem
encontrar pelo caminho. Na maioria das vezes, as pessoas evitavam falar do
assunto, por defesa ou aversão, mas ninguém se esquecia. O
desaparecimento da Alice deixou-lhes a todos uma cicatriz invisível.
A casa que se vestia de amarelo garrido estava estranhamente calada,
faltava-lhe o entusiasmo da Isaura e a estridência do gigante a cuspir jogos
de futebol, agora adormecido na parede. Na porta restava uma tabuleta
entortada, com o aviso de encerrado para férias. A Isaura não planeou nada,
não preveniu ninguém, espantou toda a gente quando fez as malas e viajou
com o Zé para Inglaterra, a fim de visitar a filha. Não se adaptou à comida,
nem aos ares, mas, ao telefone com os amigos, já ia arriscando umas frases
num inglês histriónico que só acentuava a sua falta.
A Elisa ainda considerou regressar a Lisboa, mas depois reconheceu que,
se se fosse embora, estaria a fugir do passado, e ninguém era feliz a olhar
constantemente por cima do ombro. Afinal, numa coisa o Artur tinha
acertado: aquele era um bom sítio para recomeçar. Trocou a loja de doces
por um salão de chá, como sempre desejara e, no início, as pessoas
torceram o nariz, mas lá se habituaram. Aproveitando as férias da Isaura,
até servia vinho e algumas iguarias que conquistaram os clientes.
No verão, quando as espigas de milho já se adensavam nos campos, foi
visitar a mãe e parou diante do prédio onde antes morava. Agora sim, podia
deixar essa parte da sua vida para trás. Esquecer era mais difícil, mas se
esquecermos tudo não aprendemos nada. Pensava muitas vezes no dia em
que o marido morrera, mas sem nostalgia nem arrependimentos, sobretudo
quando olhava para a filha sem sentir aquele aperto no coração.
Assim que a Isaura lhe contou o que acontecera, a Mariana procurou a
Elisa na esperança de encontrar respostas, julgando que o Artur tivesse
deixado algum indício que conduzisse à Alice, nem que fosse uma
confidência ou um bilhete na hora da morte, mas continuou a flutuar na
incerteza do que se passara naquela estranha manhã de junho.
A Salomé teve dificuldade em aceitar que o Artur houvesse traído a sua
confiança de uma forma tão perversa, achava que tinha instinto para as
pessoas e, afinal, e durante muito tempo só pensava no que também poderia
ter acontecido aos seus filhos enquanto conviviam com os amigos.
Como o Artur não admitiu o seu envolvimento no desaparecimento da
Alice, se sabia alguma coisa levou-a consigo. O computador e o telemóvel
continham provas de inúmeros crimes, não foi difícil seguir-lhe o rasto,
localizar os grupos clandestinos que frequentava e os perfis falsos nas redes
sociais, quantos estratagemas e mentiras. Na velha arrecadação que ele
herdara da tia descobriram-se caixas com ficheiros devastadores e umas
roupas de criança, mas nenhum vestígio da Alice. A chave misteriosa
permanecia uma incógnita. E embora a polícia não encontrasse evidências
que implicassem o Artur naquele caso em concreto, toda a gente se
convenceu de que ele era culpado. Precisavam de imputar a
responsabilidade a alguém, porque a dúvida era intolerável, e assim que o
fizeram sentiram-se mais leves. Ninguém questionou e muito menos
lamentou a morte do Artur. A maioria gostaria que ele tivesse sofrido
horrores às mãos da justiça e do povo, e amargurado cada minuto da sua
pérfida existência, mas acabou por se conformar com o suicídio. Pelo
menos, já conseguiam dormir mais descansados. E nem punham a hipótese
de alguém que conhecessem – colegas, amigos, vizinhos com quem
confraternizavam na segurança dos seus lares – voltar a enganá-los da
mesma forma.
A morte levou o António às pressas, como se o quisesse poupar ao
sofrimento. Foi-se numa tarde serena, antes do final do verão. A Josefa
cuidou dele até ao fim, levando a crer que a desgraça lhe amolecera o
coração, o que não era inteiramente verdade. Assim que ficou a par da
doença, a Mariana abordou a tia, deixando bem claro quais eram as
condições do seu silêncio. E, se a Josefa procurava redenção ou paz de
espírito, não a abençoou nenhuma das duas. Quando o escândalo da sua
relação com o padre rebentou, ele foi discretamente retirado de funções,
perante a estupefação teatral dos seus pares, cada um a acobertar os seus
próprios segredos, e apesar de ainda não terem elegido um substituto, as
velhas continuaram a esvoaçar, expectantes, no adro da igreja. O falatório
durou até o assunto se tornar velho e cansado, e não tardou a aparecer outro
de que se ocupassem com a mesma voracidade. A Josefa fez por ignorar os
mexericos que sobreviveram, mas era sobretudo a solidão que mais lhe
custava. Foi preciso o António estar às portas da morte para se lembrar do
quanto afinal o amava e ganhar consciência de que o perdia para sempre.
Foi preciso voltar ao que era, por instantes, para reconhecer que nunca mais
seria a mesma. Perdeu a família, a ocupação, e a maioria das pessoas virou-
lhe costas, escarnecendo do seu destino. Não que não soubessem do caso,
faziam de conta, mas quando ficou tudo às claras pareceu-lhes mal darem-
se com ela. Só as duas viúvas se mantiveram fiéis à amizade que lhe
tinham, sem darem importância aos mexericos. Cada um com as suas
assombrações. De vez em quando a Josefa dava por si a falar sozinha, como
se enlouquecesse, apalpava a metade fria do colchão à procura do António,
tinha saudades, e, sempre que fechava os olhos, aquele choro miudinho que
enchia a casa de tristeza
estava por toda a parte.
Os filhos e os netos da Glória vieram nas férias e voltaram. Foi nessa
altura que a viúva entregou a mercearia à Mariana. E talvez com esse gesto
altruísta a tenha salvado, porque, se não tivesse para onde ir, todos os dias,
àquela hora fatídica do amanhecer, em que tudo lhe vinha à mente, a
Mariana teria morrido de desgosto. Tentou agarrar-se à rotina e reaprender
os hábitos mais elementares, mas havia sempre qualquer coisa que a
atraiçoava; entrava em casa e as memórias despenhavam-se sobre ela; ia a
pôr a mesa e só lá via o lugar vazio; dobrava a roupa e era o cheiro da Alice
que procurava. Estava presa por um fio invisível e, apesar de ser cada vez
mais improvável recuperar a filha, ninguém lhe tirava a convicção de que
ela ainda havia de aparecer.
Embora a culpa do Artur fosse praticamente irrefutável, a Mariana nunca
excluiu qualquer outra hipótese. O pai da Alice foi deixando de aparecer e
ela não se surpreendeu, mas a certa altura ficou na dúvida se ele falara
mesmo verdade sobre a sua inocência no desaparecimento da filha. Havia
meses que não se via a carrinha do Jeremias parada à porta, embora
ninguém estabelecesse qualquer associação e a polícia não tivesse como o
envolver no caso. As pessoas continuaram a falar mal do professor, mesmo
sem motivo; nada mudou nesse aspeto. O filho do caseiro costumava visitar
a Mariana e levar-lhe os mesmos desenhos de sempre, e se a última
memória que ele tinha da mãe era sonho ou realidade nunca se chegou a
saber.
A Mariana sentia-se intimidada pelas atenções de que era alvo e o
desespero era tanto que às vezes perdia lucidez. A casa tornou-se um
chamariz ao nível da do Jeremias ou pior. Gente de toda a parte vinha ter
com ela para a conhecer, consolar, escarafunchar pormenores da história,
partilhar os seus próprios dramas, porque às vezes as pessoas voltam-se
para as outras na esperança de se resolverem a si próprias. Algumas
levavam velas, flores e cartões que pousavam junto do portão, como se
fosse um santuário, e ela andava tão estonteada que nem sabia o que fazer.
Certo dia encheu um saco e deitou tudo fora, num impulso, estava farta de
olhar para aquilo como se fosse um túmulo, e a Alice não estava morta.
Porque é difícil chorar uma morte sem se ter um corpo.
Não era raro calcorrear a praia ou deambular pelas ruas atrás dela. O
único conforto que lhe restava era procurar, não tinha mais nada. Os rostos
confundiam-se na multidão e, por qualquer sítio por onde passasse, havia
sempre alguém que lhe fazia lembrar a filha: os traços, o cabelo, o jeito de
andar aos saltinhos, e aconteceu-lhe mais vezes parar repentinamente no
passeio e puxar uma criança pelo braço para verificar se era ela. Tantas
vezes gritou
– Alice, Alice, Alice,
como um eco na sua cabeça, contando que de repente ela se voltasse para
trás e dissesse
– Mãe,
Só isso,
mãe,
que era o que mais sentia falta de ouvir.
Ainda se sobressaltava de cada vez que o telefone tocava ou batiam à
porta, era inevitável, e dirigia-se praticamente todos os dias à Judiciária
para sondar desenvolvimentos na investigação, apesar de obter sempre a
mesma resposta desoladora.
Havia dias em que se sentia mais perto de encontrar a Alice. Embora sem
corpo, nem provas, a investigação lá se ia reacendendo à custa das
informações que surgiam. De vez em quando alguém ligava à polícia com
dados novos, deixava uma mensagem na página de que a Salomé se
ocupava fervorosamente, ou contactava a comunicação social para aparecer
no jornal das oito. Uma testemunha reconhecia a fotografia que passara no
noticiário, um sinal de nascença, garantia ter visto a Alice numa esplanada
junto à ria de Aveiro, ou em Lagos, ou no Funchal; um mês antes uma
turista afiançara que passara por ela na City de Londres, e, sempre que se
dava um alerta, nem que fosse uma brincadeira infeliz, que também havia
gente capaz disso, a Mariana empolgava-se e abandonava tudo de coração
aos pulos. Podia ser naquele dia ou no seguinte, nalgum havia de ser. Mas
depois regressava a casa, sozinha, derrotada, estranhava o silêncio, a mesa
da cozinha encostada à parede mas que, ainda assim, não ocultava o lugar
vago, não escondia nada, a falta dela tão visível por toda a parte. Deixava-
se cair no sofá, com o gato no colo, a olhar para os retratos equilibrados na
beira do móvel para se verem melhor, passava-lhes a mão para tirar o pó das
molduras e aliviar as saudades, que só engrandeciam cada vez mais; era um
sofrimento constante.
Consumia-a sobretudo a incógnita, pois aceitar a morte da filha seria
custoso, ou impossível, mas pior era não saber o que lhe acontecera, onde
estava, como, com quem. Angustiava-se, revoltava-se, e encontrava sempre
motivos para se culpar, porque, naquele momento exato em que estava a
comer, ou a dormir, ou a atender um cliente na mercearia, ocupada com
qualquer frivolidade, a filha podia estar a precisar dela. Às vezes parecia
que a ouvia chamar, e ela tão longe, ou tão perto, sem saber, só à procura, à
espera, à deriva, impotente.
Naquele dia acordou esperançada. Era só mais um dia igual aos outros,
mas sonhara com a Alice. Acontecia-lhe muitas vezes levantar-se, de
manhã, com a sensação de a ver como da última vez que ela saíra para a
escola, o rosto tão nítido, tão perfeito, a mesma roupa que usava, a mochila
azul com o bonequito a balançar-lhe nas costas. Mas aquele sonho foi tão
vívido e duradouro que lhe parecia ter os braços dormentes de tanto a
apertar e ainda lhe sentia o calor do corpo e o cheiro da pele.
Despejou uma lata de comida na tigela, e o gato deslizou na direção dela,
miando, impaciente, roçando-se nas suas pernas. Era a sua única
companhia. Fez-lhe uma festa, distraída, certa de que a filha iria ficar
radiante por vê-lo quando voltasse para casa.
Acabara de se sentar à mesa para tomar o café, quando tocaram à
campainha duas vezes seguidas, como a Alice costumava fazer. De repente,
algo se agitou dentro dela, um tremor, um sismo, ficou tão abalada que não
conseguiu manter a caneca nas mãos. Levantou-se devagar, passos
pequenos, leves, os pés mal tocavam no chão, levitava, como se fosse uma
marioneta, presa por um fio que não se via.
E talvez estivesse ainda a sonhar, não tinha a certeza, havia alturas em
que tudo se confundia e, se assim fosse, preferia nunca mais acordar, morrer
durante o sono, pois no meio de tantos pensamentos que lhe ocorriam,
podia ser naquele dia.
Ganhou coragem e estendeu a mão para abrir a porta.
44
Já só restavam duas crianças no parque infantil, ao entardecer.
Ele refugiou-se por entre as árvores e acendeu um cigarro, soltando uma
baforada. Ficou a ver as miúdas a andar no balouço, despreocupadas, tão
felizes, de pés espetados no ar quando ganhavam balanço, cabelos ao vento,
os risinhos a desfazerem-se no céu,
para a frente e para trás,
enquanto a vontade ia irrompendo nele.
Uma delas estava à espera do primo, e os cinco minutos que ele
prometera demorar já iam em meia hora. A avó da outra estava agarrada ao
telemóvel, de indicador indeciso entre as teclas, mais um Gosto, mais uma
carinha sorridente, e de vez em quando lá deitava o olho à miúda, mas a
árvore de judas metia-se na frente, estorvando-lhe a visão. Não intuía
qualquer perigo, estando ali tão perto, e, se olhasse em redor, nenhum sinal
de alarme que ameaçasse a pacatez do dia. Quando a brisa lhe começou a
enregelar as mãos, guardou o telemóvel na carteira e levantou-se,
apressando a neta:
– Anda embora, Luisinha, está a ficar frio.
A miúda despediu-se da amiga com um aceno desconsolado e foi-se
embora.
O parque tornou-se tão silencioso que nem as folhas estremeciam com o
vento, só se ouvia o compasso áspero daquele velho balouço,
para a frente e para trás.
Ele apagou o cigarro com a biqueira do sapato, sem tirar os olhos dela.
Sonhara tanto com aquele momento que teve de se beliscar para ter a
certeza de que estava acordado. As oportunidades raramente caíam do céu,
tinha de as procurar, estar atento, ouvir as conversas sem chamar a atenção,
conhecer hábitos e gostos, e ele sabia tudo da vida daquela gente, seria uma
estupidez desperdiçar um momento perfeito.
Mais um.
Levantou-se e deu uns passos na direção dela, adoçando a voz para a
chamar.
Ninguém à vista, o primo por aparecer, a carrinha branca ali mesmo a
jeito, dois minutos para meter a miúda lá dentro, se tanto.
Um instante.
E o balouço vazio, ainda levado pelo embalo,
para a frente e para trás,
até parar por completo.
Você também pode gostar
- A Virgem Submissa e o CEO DOMINADORDocumento125 páginasA Virgem Submissa e o CEO DOMINADORmariana almeida100% (4)
- Eliana Alves Cruz - Solitária - Companhia Das LetrasDocumento148 páginasEliana Alves Cruz - Solitária - Companhia Das Letrasrodrigobotarro100% (2)
- A Governanta - A.S VictorianDocumento302 páginasA Governanta - A.S VictorianYoga Mandala100% (1)
- Livro Cida A EmpregueteDocumento78 páginasLivro Cida A EmpregueteFranciele de MedeirosAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio na EJA e Espaço Não EscolarDocumento24 páginasRelatório de Estágio na EJA e Espaço Não EscolarVivian Ribeiro100% (1)
- Mari Sales - O Segredo Do MilionárioDocumento463 páginasMari Sales - O Segredo Do Milionárionicolledossantos24Ainda não há avaliações
- Livro A PerdiçãoDocumento331 páginasLivro A Perdiçãololinhalins44100% (1)
- 2 Pulverizadores 3.0Documento114 páginas2 Pulverizadores 3.0Peças01 Caiaponia0% (1)
- Folder TDAHDocumento2 páginasFolder TDAHJoel VarisaAinda não há avaliações
- (Livro 1) Nas Garras Da Paixão - Não InformadoDocumento152 páginas(Livro 1) Nas Garras Da Paixão - Não InformadogabrielerosamisticaAinda não há avaliações
- Anatomia Radiológica Da Coluna VertebralDocumento36 páginasAnatomia Radiológica Da Coluna VertebralTonyParente100% (1)
- Conto Maria Judite de Carvalho PDFDocumento4 páginasConto Maria Judite de Carvalho PDFJéssica Fraga100% (1)
- Arteterapia e Expressão CorporalDocumento26 páginasArteterapia e Expressão CorporalFelipe Salles Xavier100% (1)
- 732 - Roteiro de Inspeção para Laboratorio de Analises Clinicas - VisaDocumento17 páginas732 - Roteiro de Inspeção para Laboratorio de Analises Clinicas - VisaValter Fernandes JuniorAinda não há avaliações
- Eos Folder SuportesDocumento8 páginasEos Folder SuportesjuliocfteixeiraAinda não há avaliações
- Peter e Wendy - James Matthew Barrie PDFDocumento175 páginasPeter e Wendy - James Matthew Barrie PDFMaisa AndradeAinda não há avaliações
- Virginia C Andrews - Teia de SonhosDocumento260 páginasVirginia C Andrews - Teia de SonhosVictor Alexandre BelfortAinda não há avaliações
- Carcinoma diferenciado da tireoide: fatores prognósticos e terapiaDocumento55 páginasCarcinoma diferenciado da tireoide: fatores prognósticos e terapiaJoice Azevedo100% (1)
- J.M. Darhower - Scarlet Scars 01 - MenaceDocumento348 páginasJ.M. Darhower - Scarlet Scars 01 - MenaceTony FonsecaAinda não há avaliações
- Poção Do Amor (Pablo Praxedes)Documento50 páginasPoção Do Amor (Pablo Praxedes)Kennedy CastelioAinda não há avaliações
- Documento Sem TítuloDocumento50 páginasDocumento Sem TítulocarllossdanielAinda não há avaliações
- Maia Gaia Entra Na Escola De Magia Avalanche: Fiction, FantasyNo EverandMaia Gaia Entra Na Escola De Magia Avalanche: Fiction, FantasyAinda não há avaliações
- A Vida Invisivel de Addie Larue V e SchwabDocumento728 páginasA Vida Invisivel de Addie Larue V e SchwabsofiamouramartinsAinda não há avaliações
- 9786559212347Documento21 páginas9786559212347Brian dimomd vrAinda não há avaliações
- VH MusicalDocumento7 páginasVH MusicaljekJek jekAinda não há avaliações
- Vitor Tem Que Morrer.Documento21 páginasVitor Tem Que Morrer.EliseMachadoAinda não há avaliações
- Antônio Carlos Viana - Jardins SuspensosDocumento3 páginasAntônio Carlos Viana - Jardins SuspensosDídimon GuedesAinda não há avaliações
- SÃndrome de Cleópatra - O Destino da Rainha - A. Alevato AiresDocumento88 páginasSÃndrome de Cleópatra - O Destino da Rainha - A. Alevato Aireslarissacamposc0207Ainda não há avaliações
- Peter Pan Edicao Bolso de Luxo-9788537811535Documento14 páginasPeter Pan Edicao Bolso de Luxo-9788537811535JanyssaAinda não há avaliações
- A visita inesperadaDocumento4 páginasA visita inesperadaRoney PavaniAinda não há avaliações
- Apolo - O Deus Da Perdicao - Lyne MDocumento48 páginasApolo - O Deus Da Perdicao - Lyne MJUNIA MENDESAinda não há avaliações
- Marques Rebelo - Caso de MentiraDocumento7 páginasMarques Rebelo - Caso de MentiraJohannShawsperci100% (1)
- A história do karatê e seu desenvolvimento em OquinauaDocumento121 páginasA história do karatê e seu desenvolvimento em Oquinauarenataborba2014Ainda não há avaliações
- Q&A sobre Sistemas DistribuídosDocumento24 páginasQ&A sobre Sistemas DistribuídosDaniel VilelaAinda não há avaliações
- Dimensionando lajes pré-moldadas com EPSDocumento34 páginasDimensionando lajes pré-moldadas com EPSGuilherme TelesAinda não há avaliações
- Manual - Pionner DEH-2880MPGDocumento8 páginasManual - Pionner DEH-2880MPGViníciusBezerra50% (6)
- Máscaras Sociais - Texto de OpiniãoDocumento2 páginasMáscaras Sociais - Texto de OpiniãoDiana AlbuquerqueAinda não há avaliações
- C ADRIANO Um Guia para As Vanguardas CinematográficasDocumento16 páginasC ADRIANO Um Guia para As Vanguardas CinematográficasTasha BallardAinda não há avaliações
- Humanização Dos Cuidados de Saúde Uma Interpretação A Partir Da Filosofia de Emmanuel LévinasDocumento9 páginasHumanização Dos Cuidados de Saúde Uma Interpretação A Partir Da Filosofia de Emmanuel LévinasLucas LocatelliAinda não há avaliações
- OITAVA IPB DE LONDRINADocumento2 páginasOITAVA IPB DE LONDRINALuiz Carlos100% (1)
- Atividade para QuaresmaDocumento2 páginasAtividade para QuaresmaBarbara SobralAinda não há avaliações
- Citologia Resumo Para EstudoDocumento6 páginasCitologia Resumo Para Estudojessicakarolina1117Ainda não há avaliações
- Queimaduras AphDocumento26 páginasQueimaduras AphInfantaria SGSAinda não há avaliações
- Física - Revista Superinteressante - A Maior Teoria Do Século (Mecânica Quântica)Documento1 páginaFísica - Revista Superinteressante - A Maior Teoria Do Século (Mecânica Quântica)edurafaelsantosAinda não há avaliações
- Manual Identidade Visual Placa Obra-1Documento4 páginasManual Identidade Visual Placa Obra-1Renan Zavarize de AlmeidaAinda não há avaliações
- Sacrário - Encontros Com Jesus - Maria Stella SalvadorDocumento182 páginasSacrário - Encontros Com Jesus - Maria Stella SalvadorRichard Alisson Ferreira100% (1)
- Folha 3. Caixa - DáguaDocumento1 páginaFolha 3. Caixa - DáguaJuciane SouzaAinda não há avaliações
- Leis de NewtonDocumento4 páginasLeis de NewtonvnevesAinda não há avaliações
- AntiviraisDocumento3 páginasAntiviraisGisvaldoAinda não há avaliações
- Os frutos dos falsos profetasDocumento2 páginasOs frutos dos falsos profetasPatricia SousaAinda não há avaliações
- Aplicação do solo grampeado em obra de grande porteDocumento37 páginasAplicação do solo grampeado em obra de grande porteZeDoChaaAinda não há avaliações
- PR Tica 4Documento4 páginasPR Tica 4Lucas MahiaAinda não há avaliações
- FinanceiraDocumento2 páginasFinanceiraClaiton JuniorAinda não há avaliações
- Apostila Anatomia e Fisiologia HumanaDocumento145 páginasApostila Anatomia e Fisiologia HumanaNetúnio Naves da SilvaAinda não há avaliações