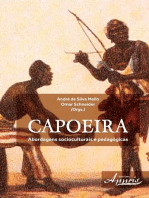Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cadernosaa 195
Enviado por
Evelyn de AlmeidaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cadernosaa 195
Enviado por
Evelyn de AlmeidaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cadernos de Arte e Antropologia
Vol. 2, No 2 | 2013
Criatividade e protagonismo indígenas
Indigenous Protagonism and Creativity
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/cadernosaa/195
DOI : 10.4000/cadernosaa.195
ISSN : 2238-0361
Éditeur
Núcleo de Antropologia Visual da Bahia
Référence électronique
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013, « Criatividade e protagonismo indígenas » [En
ligne], mis en ligne le 01 octobre 2013, consulté le 09 mars 2020. URL : http://
journals.openedition.org/cadernosaa/195 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cadernosaa.195
Ce document a été généré automatiquement le 9 mars 2020.
© Cadernos de Arte e Antropologia
1
SOMMAIRE
Dossiê: Criatividade e protagonismo indígenas
Criatividade e Protagonismo Indígenas
Maria Rosário de Carvalho
Artigos
A aranha vive do que tece
Arissana Braz Bomfim de Souza
Aldeia Velha, “nova na cultura”: reconstituição territorial e novos espaços de protagonismo
entre os Pataxó
Hugo Prudente da Silva Pedreira
A história está no “drama”: jovens Xokó e produção de socialidade com linguagem das artes
Natelson Oliveira de Souza
O modelo de gestão territorializada da política de educação escolar indígena no estado da
Bahia
Carlos Rafael da Silva
Processos de criação da política indigenista no estado da Bahia: Atores e arranjos
institucionais
Jéssica Torres Costa e Silva
Artigos
Manifestações barrocas: Jongo e Folia no quilombo de Colônia do Paiol
Carla Ladeira Pimentel Águas
Significação e emoção estética: Lévi-Strauss e um olhar antropológico sobre a arte
Tatiana Lotierzo
Ensaios (audio)visuais
Trayectorias (sobre ruedas): un ensayo visual sobre los carritos de supermercado en la
ciudad
Edgar Gómez Cruz
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
2
Maria Rosário de Carvalho (dir.)
Dossiê: Criatividade e protagonismo
indígenas
Special Issue 'Indigenous Protagonism and Creativity'
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
3
Criatividade e Protagonismo
Indígenas
Maria Rosário de Carvalho
1 O dossiê deste Vol. 3 No. 2(2013) tem como autores cinco jovens, três dos quais
indígenas, sendo dois da etnia Xukuru-Kariri (estabelecidos na região do nordeste
brasileiro, predominantemente no município de Palmeira dos Indios, agreste alagoano,
e um pequeno contingente no muncípio de Glória, no estado da Bahia) e um do povo
Pataxó, hoje distribuído em várias aldeias na porção do extremo-sul baiano e no estado
de Minas Gerais; e dois jovens não índios. Os três primeiros tomam como objetos de
reflexão, respectivamente, o processo de criação da política indigenista no estado da
Bahia; o modelo de gestão territorializada da política de educação escolar indígena
nesse mesmo estado; e a produção, consumo e circulação dos adornos pataxós,
mediante um exercício de imersão na cultura da autora, ao passo que os dois não índios
examinam uma performance ritual criada e encenada por jovens índios Xokó do
município de Porto da Folha, estado de Sergipe, no baixo curso do rio São Francisco; e a
formação de uma nova aldeia pataxó que viria a se tornar uma espécie de laboratório
para a cultura nativa.
2 Na chamada para o Dosssiê, enfatizamos que o tema “Criatividade e Protagonismo
Indígenas” deveria se apresentar em distintos contextos etnográficos e diversas
abordagens teóricas e metodológicas. A nossa expectativa era, então, a de que os textos
submetidos tratassem o tema por meio de expressões individuais e coletivas e recortes
múltiplos, permitindo ao leitor surpreender o seu potencial tarnsformador no plano
das relações sociais e políticas, internas e externas às sociedades indígenas. A nossa
intenção, nesta Introdução, é, pois, avaliar até que ponto essa expectativa foi
concretizada, e como o foi.
3 O título do artigo de Arissana Braz Bomfim – a aranha vive do que tece --, uma clara
alusão aos aracnídeos que segregam seda, com a qual tecem as suas teias -- e o seu
primeiro subtítulo “Pra gente nunca esquecer o que nossos pais deixaro” talvez possam
ser entendidos, combinadamente, como a expressão sintética do ethos da trajetória de
uma indígena pataxó que, desde muito jovem, passou a colaborar, efetivamente, para
assegurar a reprodução biológica e social da sua família de orientação, assim como
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
4
teriam procedido os seus pais, avós e ascendentes genealogicamente mais distantes.
Esse legado ético-moral constitui um valor a ser cultivado e transmitido às novas
gerações -- como a da sua filhinha Atxinãe – e uma fonte de inspiração permanente
para uma vida autêntica, no sentido de autônoma e criativa.
4 Sem parentes e sem a contínua renovação daquela considerada como ‘a tradição’
pataxó, material e simbólica, parece não haver condições efetivas de vida para esse
povo. Os adereços compõem parte significativa dessa tradição que, a partir dos anos
1970, também se destinam ao mercado regional, como item crescentemente relevante
para a geração de renda monetária necessária à aquisição dos produtos
industrializados. Mas o seu valor estético não decresceu. Ao se adornarem com os
colares, cocares, tangas, pentes, pulseiras e etc, os vendedores pataxós exibem,
simultaneamente, os seus produtos artesanais e a sua identidade étnica, em uma
relação de imbricação que propicia à última agregar valor aos primeiros. Entre as
crianças, particularmente, a colaboração na produção e venda desses objetos
ornamentais funciona como atividade produtiva e identitária. Nesse sentido, a
produção e circulação dos adereços parece funcionar como uma estratégia de emulação
intraétnica e interétnica e, ademais, como uma fonte de inserção econômica
ponderável, notadamente para algumas aldeias cujo ingresso monetário quase
exclusivo provém da atividade artesanal.
5 Por outro lado, suponho constituir evidência de que a atividade artesanal não é
praticada apenas como motivação econômica o fato das novas ocupações, decorrentes
do processo de escolarização formal, tais como de professores e coordenadores de
grupos de cultura, não terem suscitado o seu abandono. Para eles, a elaboração dos
adereços indígenas deve estar sendo entendida como uma atividade cultural
fundamental para o exercício das suas novas ocupações e não apenas uma atividade
manual que requer certa habilidade. Mas pode constituir, complementarmente, e desse
modo ser apreendida, como uma expressão artística da qual usufruem prazer estético,
como evidencia a maior elaboração dos colares, e outros itens, usados para adornar os
corpos indígenas em dias especiais.
6 Arissana Braz afirma que “aprender a fazer os adereços é um dos primeiros passos de
um processo de constituição da arte Pataxó”. Arte que pode ser considerada mais
abrangente, para dar lugar, por exemplo, às armadilhas de caça que eu, no já longínquo
ano de 1976, busquei, sistematicamente, desenhar em meus cadernos de campo, tal a
atração que exerciam sobre mim tais artefatos que, engenhosamente, adaptavam-se
perfeitamente ao ambiente, condição indispensável para a sua eficácia. Alfred Gell, com
sensibilidade quase poética, ao explorar a base de distinção comumente empregada
entre trabalhos de arte ou objetos de arte, e ‘meros’ artefatos – úteis mas não
esteticamente interessantes ou belos --, busca demonstrar – problematizando as teorias
institucional e interpretativa de arte elaboradas pelo filósofo Arthur Danto -- que as
armadilhas animais poderiam, muito bem, ser exibidas como arte, “porque elas tendem
a incorporar ideias e intenções complexas relativas às relações entre homens e animais,
e porque elas provêm um modelo do próprio caçador e da sua ideia do mundo da presa
animal”1 , em face do que ele concluirá que uma definição aestética do objeto de arte é,
consequentemente, insatisfatória” (Gell, 1996, p. 15). Os úteis, e igualmente belos,
adereços Pataxó são, pois, bons exemplos da arte Pataxó, como o são as miniaturas de
animais habilmente esculpidas em madeira por Ananias Nascimento e as armadilhas
para caça já mencionadas.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
5
7 Finalmente, quero referir ainda, no que concerne ao artigo de Arissana, ao uso das
penas de galinha e matérias primas industrializadas. Em um caso e outro, não há, por
parte dos produtores – e a autora é, também, produtora --, pejo em admitir o seu uso.
Há, vale lembrar, excelentes antecedentes de tais usos sem pejo aparente. Estou
referindo aos famosos mantos Tupinambá. Mais particularmente ao manto depositado
no Museu da Dinamarca, no qual um estudo realizado na Holanda, em 1979, teria
identificado a presença de penas de galinha ("chicken down") 2. Felipe Vander Velden
Ferreira registra, por sua vez, que o manto Tupinambá guardado no Museu do Homem,
em Paris, contém, em sua extremidade superior, uma tira de miçangas azuis e brancas
de origem europeia (Métraux, 1932, p. 4 apud Ferreira, p. 32, nota 8). Ferreira indaga,
argutamente, se esses mantos com penas de galinha teriam sido confeccionados para
uso ritual ou terão sido simples “peças decorativas, circulando em uma rede crescente
de peças provenientes de populações primitivas, e trazidas de cantos remotos do globo
para o espanto e a admiração dos europeus? Tais artefatos dirão mais sobre os Tupi
litorâneos ou sobre os europeus que deles adquiriam as peças guardadas ciosamente
por uns poucos museus na Europa?” (Ferreira, 2012, p. 100-101).
8 Ora, admitindo-se que, já nos séculos XVI e XVII, os Tupinambá na costa brasileira
coloriam artificialmente penas de galinhas para a confecção dos seus mantos, “qual é a
razão para considerarmos, hoje, como espúrio ou inautêntico, o uso das penas destas
aves nos adornos plumários e outros objetos de certas populações indígenas (...)?”
(Ferreira, 2012, p. 7).
9 No artigo “Aldeia Velha, “nova na cultura”: reconstituição territorial e novos espaços
de protagonismo entre os Pataxó”, Hugo Prudente Pedreira demonstra que tais novos
espaços resultaram de uma forte mobilização pela recuperação de áreas expropriadas
aos Pataxó, no âmbito da qual certos agentes sociais se destacam e, na sucessão dos
acontecimentos, têm a sua liderança contestada e destituída. Uma certa tendência à
centralização do poder então enfeixado costuma ocorrer e confronta-se com a
resistência dos liderados, aparentemente predispostos à renovação desse poder em
cadeia ou rede (e não apropriável como uma riqueza ou um bem), em cujas malhas “os
indivíduos não só circulam mas estão sempre em posição de exercer este poder e de
sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de
transmissão” (Foucault, 1986, p. 183-184). Nesse sentido, o leitor poderá acompanhar,
em escala reduzida, a constituição de grupos, líderes e unidades políticas, assim como
os mecanismos que são acionados para opor obstáculos à sua estabilização e ao
enrijecimento de assimetrias (Sztutman, 2008) na Aldeia Velha.
10 Designa-se de retomada às ações que, nos contextos etnográficos nordeste e leste do
Brasil, buscam reintegrar aos territórios tradicionais parcelas que, ao longo dos anos,
deles foram expropriadas. Em geral as retomadas envolvem homens, mulheres e
crianças que, em ações concertadas, recuperam-nas e mantêm-nas sob a sua posse,
acionando, na sequência, o Ministério Público Federal para que este interponha ação de
reintegração de posse e a cassacão de liminares de reintegração contrapostas pelos
comumente designados fazendeiros. Via de regra as liminares são prontamente
acolhidas pelos juízes locais, o que leva, muitas vezes, o contingente indígena ameaçado
de expulsão da parcela retomada a resistir ao seu cumprimento por agentes da polícia
militar. Exitosa a resistência, recursos e apoios, materiais e políticos, são mobilizados
para viabilizar a retomada e desencadear o processo de regularização junto à FUNAI. Na
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
6
sequência são realizados os estudos de identificação da área que, concluídos, são
apreciados pelo Ministério da Justiça.
11 No caso da Aldeia Velha, doze anos de muitas lutas transcorreram entre as primeiras
ações de retomada e a definitiva, em 1998, que ensejou a abertura do já referido
processo de regularização. Ao longo desses anos a comunidade indígena foi sendo
formada, compelida a sobreviver sob barracas de plástico, liderada pelo que viria a se
tornar o cacique Ipê, pelo Conselho de Caciques Pataxó e por Dona Dió, reconhecida
como a única indígena que jamais se deslocou da Aldeia Velha. Como bem observa
Pedreira, a comunidade política antecedeu a conquista, e organização, do território.
12 O consenso positivo construído em torno da liderança de Ipê e fortemente apoiado no
valor advindo do trabalho por ele desenvolvido, não foi suficiente para mantê-lo no
cargo de cacique: restrições à sua forma de atuação isolacionista, combinadas a outros
fatores, retraíram os seus liderados que, em uma consulta participativa, optaram pelo
candidato concorrente.
13 Velha em termos de existência e “nova na cultura”: é assim que os Pataxó a consideram,
aludindo ao antigo aldeamento Santo Amaro do qual se originou, estabelecido no século
XVI e extinto em data não definida. Prospecções arqueológicas realizadas na Terra
Indígena Aldeia Velha por uma equipe coordenada pelo arqueólogo Carlos Etchevane,
da UFBA, localizou seis sítios, pré-coloniais e pós-coloniais, caracterizados como de
ocupação indígena (Pedreira, 2013, p. 8). Dos mais jovens, em larga medida
escolarizados e com maior domínio sobre as instâncias burocrático-institucionais, se
espera que contribuam para o desenvolvimento da cultura nativa, inserindo-a no
circuito do território pataxó tal como compreendido pelo conjunto descontínuo das
suas aldeias estabelecidas no estado da Bahia, e a transformem em uma estratégia de
comunicação intercultural, sob a mediação do parentesco, e de percepção crítica da
ordem social, regional e nacional, onde estão imersos.
14 Os jovens Xokó de Porto da Folha, no estado de Sergipe, engajam-se também política e
culturalmente, mas o fazem apelando para a dramatização cênica de uma história de
violência que vivenciaram, em parte, enquanto crianças, mas que predominantemente
ouviram dos parentes mais velhos. A dramatização parece facultar-lhes rememorar os
fatos de acordo com uma leitura na qual emergem como autores e atores e não como a
parte vilipendiada, o que parece contribuir para mitigar a sua dor (ação reparadora, no
modelo de drama social elaborado por Victor Turner, que, vale notar, não é utilizado
por Natelson Souza (Dawsey, 2005, p. 165), recuperar certa segurança ontológica e
reforçar a sua identidade étnica3. Em outras termos, uma estratégia de ressignificação
do mundo, da qual participam também não índios que se apresentam como
interessados em sua causa e que são “criativamente incorporados como personagens
interpretados pelos próprios indígenas”
15 Finalmente, os artigos “O modelo de gestão territorializada da política de educação
escolar indígena no estado da Bahia” e “Processos de criação da política indigenista no
estado da Bahia: atores e arranjos institucionais”, tratam, respectivamente, da
educação intercultural no estado da Bahia, a partir da análise do novo modelo de gestão
definido como Território Etnoeducacional; e da política indigenista no governo da
Bahia ao longo da gestão de Jacques Wagner (2006-2013), buscando caracterizar o seu
modelo institucional, bem como os condicionantes desse modelo sobre a interação dos
atores políticos. Os dois autores, Carlos Rafael da Silva e Jessica Torres Costa e Silva,
operam um deslocamento do campo da etnologia indígena para o da ciência política e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
7
utilizam as reflexões que veem desenvolvendo, há já certo tempo, no interior do
movimento indígena, como atores indígenas e acadêmicos, nas pesquisas que apoiam os
dois artigos.
16 A Constituição de 1988, ao introduzir novos preceitos constitucionais relativamente aos
povos indígenas (respeito à organização social, costumes, línguas, crenças e tradições
indígenas, asim como aos processos próprios de aprendizagem no ensino básico, entre
outros), reconheceu-lhes o direito ao exercício da sua diferença étnica e instaurou
novos marcos para as suas relações com o Estado e a sociedade brasileira. Parecia, pois,
anunciar-se um novo tempo, no qual a sua consideração como uma categoria social
transitória e as relações assimétricas que, até então, presidiam a sua comunicação com
o estado e a sociedade brasileiros seriam substituídas por relações menos assimétricas e
pelo reconhecimento da sua cidadania brasileira (o pleno exercício dos direitos civis e
políticos que em face da legislação lhes couberem), preservadas as características
culturais que os distinguem da sociedade nacional (indivíduos de origem e ascendência
pré-colombiana que se identificam e são identificados como pertencentes a distintos
grupos étnicos).
17 No estado da Bahia, a partir de 2006, a ascensão de Jacques Wagner ao cargo de
governador suscitou ente os Índios a mesma expectativa positiva: tratar-se-ia de um
aliado que acolheria as demandas indígenas e as incluiria na pauta de governo. Seis
anos passados, e não obstante o reconhecimento de que “a temática indigenista
pass[ou] a compor o cenário político de forma mais significativa”, a pesquisa
desenvolvida por Jessica Costa e Silva constata não haver, de fato, uma política estadual
para povos indígenas, mas tão somente transversalização da temática indígena nas
ações setoriais do estado.
18 Tais ações, por sua vez, permanecem ao sabor do empenho individual de políticos e
burocratas e, notadamente, das pressões dos líderes e dos agentes indígenas mais
comprometidos. A letra da lei não alterou a posição histórica da questão indígena no
aparelho governamental como algo residual, como o comprovam o desconhecimento
quase generalizado da legislação específica e da especificidade dos povos indígenas no
estado da Bahia, do que decorrem, quase automaticamente, questionamentos quanto a
lhes assegurar um tratamento diferenciado.
19 Do mesmo modo, o novo modelo de gestão definido como Território Etnoeducacional e
analisado por Carlos Rafael Silva, ressente-se de inúmeros problemas de implementação
que comprometem, gravemente, o projeto de educação intercultural na Bahia. O
Projeto Observatório da Educação Escolar Indígena, que desde o ano de 2010 realiza o
diagnóstico da situação educacional dos povos indígenas, e no qual Jessica e Carlos
Rafael atuam como pesquisadores, evidenciou tais problemas e uma significativa
defasagem entre a legislação sobre educação escolar indígena e o seu efetivo
cumprimento. Mas uma vez evidencia-se o que parece incontornável: legislações mal
aplicadas ou não aplicadas! O vácuo que daí resulta suscita, por sua vez, “um forte
protagonismo político de indivíduos e organizações indígenas e de parceiros desses
atores”.
20 De acordo com o modelo analítico de Charles Lindblom (1981), Carlos Rafael supõe que a
inadequação entre a legislação e o resultado final da política é passível de ser explicada
pelos processos de implementação, que estão negativamente condicionados pelo
regime de colaboração instaurado entre os agentes institucionais do sistema federativo
brasileiro.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
8
21 Os cinco textos parecem evidenciar, ou sugerir, a partir de distintos ângulos e enfoques,
que o protagonismo e a criatividade indígenas, além do seu caráter volitivo, em geral de
caráter individual, mas inelutavelmente reportado ao coletivo, preenche um espaço
requerido pelas relações entre os povos indígenas, o estado e a sociedade brasileiros,
frequentemente marcadas pelo tratamento -- social e institucional -- residual, que é
concedido aos primeiros. Formalmente cidadãos plenos são, efetivamente,
considerados, e tratados, como cidadãos sob condição. Talvez o cerne da questão resida
na superação da própria noção limitada e etnocêntrica de cidadania, entendida como
direitos e deveres comuns de indivíduos que partilham dos mesmos símbolos e valores
nacionais (Ramos, 1991).
22 Os avanços formalmente assegurados pelo texto constitucional de 1988 dificilmente se
concretizam em práticas e representações menos assimétricas, demandando a
permanente vigilância dos Índios em relação aos direitos que eles conquistaram,
mediante grande mobilização na Assembleia Nacional Constituinte.
23 Presentemente, forças contrárias tornam-se crescentemente poderosas, configurando o
que tem sido denominado como “uma onda ou campanha anti-indígena”, que tem se
desdobrado em um conjunto significativo de propostas de emenda à constituição (PEC)
e projetos de lei (PL), entre os quais se destaca a PEC 215 que propõe transferir do Poder
Executivo para o Congresso Nacional a demarcação e homologação de terras indígenas
e quilombolas, além de rever os territórios com processo fundiário e antropológico
encerrado e publicado.
BIBLIOGRAFIA
Danto, Arthur. “Artifact and Art”, in Art/Artifact: African Art in Anthropology Collections. Exhibition
Catalogue. New York: Center for African Art and Prestel Verlag.
Dawsey, John C. Victor Turner e a Antropologia da Experiência. Cadernos de Campo No. 13: 163-176,
2005.
Due, Berete. “Artefatos brasileiros no Kunstkammer Real”, in Barbara Berlowicz, Beret Due, Peter
Pentz e Esper Waehle (eds), Albert Eckhout volta ao Brasil 1644-2002, Nationalmuseet, Copenhagen,
pp. 187-195.
Ferreira, Felipe Vander Velden. As Galinhas Incontáveis. Tupis, Europeus e Aves Domésticas na
Conquista no Brasil. Journal de La Societé des Américanistes 2012, 98-2, pp. 97-140.
Foucault, Michel. Microfísica do poder. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto
Machado. 6ª. edição, Rio de Janeiro: Graal, 1986.
Gell, Alfred. Vogel’ s Net: Traps as Artworks and Artworks as Traps. Journal of Material Culture.
Sage Publications, Vol.1 (1) 1996: 15-38.
Lindblom, Charles Edward. O processo de decisão política. Tradução Sérgio Bath. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 1981.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
9
Métraux, Alfred. À propos de deux objets Tupinambá du musée d’Ethnographie du Trocadéro,
Bulletin Du Musée d’Ethnographie du Trocadéro, 2, pp. 3-18.
Pedreira, Hugo Prudente da Silva. “SaberAndar”: Refazendo o Território Pataxó em Aldeia Velha.
Monografia apresentada ao Departamento de Antropologia e Etnologia, FFCH da UFBA para
obtenção do grau de Bacharel em Ciências Sociais/Concentração em Antropologia, 2013.
Ramos, Alcida. Os direitos do índio no Brasil na encruzilhada da cidadania. Série Antropológica No.
116, Universidade de Brasília: Departamento de Antropologia, 1991.
Sztutman, Renato. O Profeta e o Principal. A ação política ameríndia e seus personagens. São Paulo:
Serviço de Comunicação Social. FFLCH/USP, 2008.
Turner, Victor. Dewey, Dilthey e Drama: um ensaio em Antropologia da Experiência (primeira
parte) De Victor Turner (Dewey, Dilthey, and Drama: An Essay in the Anthropology of
Experience”. Cadernos de Campo No. 13: 177-185, 2005 (tradução de Herbert Rodrigues e revisão de
John C. Dawsey).
NOTAS
1. Cada armadilha não é apenas um modelo do seu criador mas um self subsidiário sob a forma de
um autômato, mas também um modelo de sua vítima. (...) De acordo com a forma da armadilha,
as disposições da pretendida vítima podem ser deduzidas. Neste sentido, armadilhas podem ser
consideradas textos do comportamento animal (Gell, 1996, p. 27)
2. O tema foi objeto de uma troca de e-mail´s, em 2005, entre John Monteiro e Amy J. Buono, do
Departamento de História da Arte & Arquitetura da Universidade da Califórnia, Santa Barbara.
Monteiro supunha que o estudo, que teria identificado penas de galinhas no manto depositado no
Museu da Dinamarca, referido por Buono, faria parte do livro organizado por Ernst avan den
Boogaart, Johan Maurits van Nassau Siegen, 1604-1679, A humanist prince in Europe and Brazil. Haia:
Government Publishing Office, 1979. Para Monteiro, o príncipe Nassau teria recebido o manto de
um dos líderes Potiguar que ele incorporou à sua corte, em Recife/PE, algum tempo antes de
retornar a Holanda, em 1644. Monteiro demonstrava curiosidade em saber quando o referido
manto teria sido identificado como Tupinambá, ao tempo que observava que os holandeses
designavam os falantes Tupi simplesmente Brasilianer, em oposição aos Tapuia, não Tupi (a cópia
da troca de e-mail´s foi redirecionada, generosamente, por J. Monteiro para Patrícia Couto,
pesquisadora do Programa de Pesquisas sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro da UFBA
que, por sua vez, o compartilhou comigo). Vale registrar que o assunto tratado nesse e-mail pode
ter sido suscitado pelo livro de Berete Due (2002) que, além de reproduzir as peças plumárias da
Kunstkammer Real, observa que a peça Hc.52 inclui, possivelmente, penas tingidas de galinha
(apud Ferreira 2012, p. 32, nota 7).
3. Barbara Myerhoff (1979) define como “cerimônias definitórias” um tipo de “auto-biografia”
coletiva, “um meio pelo qual um grupo cria sua identidade ao contar para si uma história sobre si
mesmo, um processo ao longo do qual ganha vida a sua “Identidade Determinada e Definida”(...)
(Turner, 2005, p. 182). Já no drama social de Turner, no sentido diltheyniano, “o significado é
engendrado pela articulação de problemas presentes a um rico passado étnico, que então é
infundido nos “feitos e provações” (frase de Dewey) da comunidade local. Alguns dramas sociais
podem ser mais definitórios do que outros, isso é certo, mas muitos dramas sociais contêm,
mesmo que apenas implicitamente, meios de reflexividade pública em seus processos
reparadores. Ao ativá-los, os grupos avaliam a sua situação atual: a natureza e a força de seus
laços sociais, o poder de seus símbolos, a eficácia de seus controles morais e legais, a sacralidade
de suas tradições religiosas, e assim por diante (Turner, 2005, p. 182-183).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
10
AUTOR
MARIA ROSÁRIO DE CARVALHO
Universidade Federal da Bahia
Professora Associada do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal da Bahia.
mrgdecarvalho12@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
11
Dossiê: Criatividade e protagonismo indígenas
Artigos
Articles
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
12
A aranha vive do que tece
The spider lives of what she weaves
Arissana Braz Bomfim de Souza
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2013-08-07
Aceito em: 2013-10-21
O contexto etnográfico
1 Os Pataxó são um povo indígena que, dentre os muitos que habitavam a Bahia no século
XVI, resistiu a uma série de tentativas de eliminação física desfechadas desde a chegada
dos primeiros europeus ao Brasil. Atualmente, constitui uma população de
aproximadamente quinze mil indivíduos distribuídos em trinta e seis aldeias, sendo seis
no estado de Minas Gerais, nos municípios de Carmésia (Sede, Retirinho e Imbiruçu);
Arassuaí (Aldeia Jundiba); Açucena (Aldeia Jeru Tukumã); e Itapecerica (Aldeia
Moãmimati); e trinta no estado da Bahia, concentradas na porção do extremo sul, nos
municípios do Prado - Tawá, Cravero, Àguas Belas, Corumbauzinho, Cahy, Alegria Nova,
Monte Dourado, Maturembá, Tibá e Pequi ; Itamaraju - Trevo do Parque; Porto Seguro -
Juerana, Aldeia Velha, Imbiriba, Xandó, Bujigão, Barra Velha, Pará, Campo do Boi, Meio
da Mata, Boca da Mata, Cassiana, Pé do Monte, Jitaí, Guaxuma e Aldeia Nova; e Santa
Cruz Cabrália - Coroa Vermelha, Aroeira, Mata Medonha e Nova Coroa (Figura 1). Há
também famílias pataxós que vivem em áreas urbanas, principalmente nas cidades mais
próximas às aldeias.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
13
Figura 1. Mapa das aldeias do povo Pataxó localizadas no extremo sul da Bahia. 1
“Pra gente nunca esquecer o que nossos pais deixaro
(…)”
[…] é importante frisar que toda sociedade
produz um estilo de ser, que vai acompanhado de
um estilo de gostar e, pelo fato de o ser humano
se realizar enquanto ser social por meio de
objetos, imagens, palavras e gestos, os mesmos se
tornam vetores da sua ação e de seu pensamento
sobre seu mundo. (Lagrou 2010: 2).
2 Não obstante constitua um povo que há muito mantém contato com a população não
indígena regional, os Pataxós orgulham-se de conservar muitos saberes transmitidos e
ensinados pelos mais velhos, dentre os quais estão os adornos corporais, mais
conhecidos pelos Pataxó como adereços, que são os cocares, as tangas, as pulseiras,
cintos, brincos, braceletes e tornozeleiras, usados por eles em diversos ambientes e
para as mais distintas finalidades, tais como nas festas que acontecem nas aldeias, em
encontros e eventos internos e externos, em movimentos públicos de manifestação e
reivindicação, e também quando comercializam artesanatos.
3 Foi mediante a transmissão de pai para filho que tanto a produção quanto o uso dos
adereços Pataxó foram preservados até os dias atuais. A família exerceu, assim, um
papel importante no que se refere ao uso e aprendizagem entre as crianças. E os mais
velhos, assim como no passado, continuam sendo os mestres e um referencial para os
mais jovens, geralmente os avós, os pais ou mesmo outro familiar mais próximo.
Cristiane, professora pataxó da Aldeia Cahy, relata que, quando estava na faixa de sete a
oito anos, sua avó Zabelê começou a incentivar a produção e o uso dos adereços entre
filhos e netos.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
14
Quando foi um dia ela falou assim: - amanhã eu vou fazer um cauim, um peixe na
patioba, e vocês vão vim pra cá que eu vou fazer uma dança lá no quintal. Aí quando
foi no outro dia a gente ansioso, fui pra lá. Chegou, Zabelê já tava com um pratão de
semente lá no chão né, agulha, aí começou a ensinar a gente fazer, pegar na agulha.
Ela falava isso aqui que é artesanato de índio, vocês tem que fazer isso aqui, pra
gente nunca esquecer o que nossos pais deixaro pra gente. Aí começou a ensinar. Eu
comecei a fazer através desse ensino de Zabelê […] ela começou a ensinar a dança
também pra gente, aí a gente começou a confeccionar os nossos adereços, a tanga,
ela levava a gente pra lagoa pra tirar taboa, botava a gente pra fazer o nosso próprio
cocar. (informação verbal)2.
4 Cristiane é, atualmente, professora da Escola Indígena Kijetxawê Zabelê 3, coordena o
grupo de cultura da Aldeia Cahy e, seguindo o exemplo da avó, confecciona os adereços
juntamente com os jovens do grupo, para incentivá-los e ensiná-los, tendo também a
ajuda do esposo, da mãe e do cacique da aldeia
5 Anderson, da Aldeia Tibá, afirma que com a sua avó Zabelê também aprendeu a fazer a
maioria dos adereços que confecciona: colar, brinco, pulseira e o cocar tipo coroinha
usado mais pelas mulheres. Assim, baseado nos adereços que já produz e em sua
habilidade no uso das matérias-primas, não tem dificuldade de aprender a confeccionar
outros adereços. Foi assim que aprendeu a confeccionar o cocar de duas tranças
elaborado e lançado em Coroa Vermelha: “já aprendi sozinho mesmo, peguei a base do
outro e fui. Na verdade eu comprei um em Coroa Vermelha e desse eu comecei a olhar”
(informação verbal)4. É desse modo que muitos Pataxó também aprendem, observando
e reproduzindo um determinado adereço, sem necessariamente ter alguém
intermediando o processo.
6 Há também outros contextos que favorecem tanto a aprendizagem quanto a troca de
adereços entre os Pataxó. Estou referindo aos encontros, reuniões, cursos e até
retomadas de parcelas do território indígena. Voltairis, da Aldeia Pequi, relata que
aprendeu a fazer muitos adereços com seu avô, inclusive a tanga da biriba, ao passo que
aprendeu a fazer o cocar
numa época de uma retomada lá nos eucalipto, ali perto do Guaxuma. […] já aprendi
com um parente lá da Aldeia Guaxuma né, eu vi ele fazendo, ele tava ensinando lá a
gente, aí eu aprendi o processo. Assim, com ele lá eu aprendi só o processo de tá
amarrando as pena né no barbante. Aí, já aprendi a colocar na trança os bordado
com os parente de Coroa Vermelha (informação verbal).5
7 Por outro lado, foi com Gilson, professor da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha,
que concluiu o aprendizado: “[…] foi quando ele tava no Magistério ele trazia pra fazer
[…] quando tava com algum tempo que ia pros seus apartamentos ficava fazendo. E eu
com curiosidade ficava olhando ali, até mesmo perguntava alguma coisa e ele passava
informação pra mim.” (informação verbal)6.
8 Assim, aprender a fazer os adereços é um dos primeiros passos de um processo de
constituição da arte Pataxó, que está intimamente associado com a história e a memória
dos mais velhos e com o processo de socialização dos mais jovens, e em estreita
convivência com os demais, notadamente com os mais velhos. O exemplo de Zabelê,
anteriormente referido, é eloquente: convocou os netos para lhes transmitir a tradição
artesanal. Mas não se tratou de uma transmissão pura e simples: ela preparou um
ambiente ritual – awê, cauim e peixe na patioba – no interior do qual ocorreu a
transmissão, prática (agulhas, sementes e linhas) e teórica (à medida que ensinava a
confeccionar os colares, relembrava como havia sido o seu aprendizado, exortando-os a
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
15
não esquecerem o legado dos mais velhos). A mesma atitude foi observada em relação
ao ritual Awê, ao cauim e ao peixe.
9 Outros aspectos importantes dessa cadeia estão nas diversas formas de uso das
matérias-primas, na relação com a ecologia local e na maneira como os artefatos
circulam entre as aldeias e além delas, conforme descreveremos, a seguir, começando
por um pequeno painel da sua variedade.
Quais adereços são feitos pelos pataxó?
10 Seguindo as Figuras abaixo, é possível saber um pouco sobre a variedade dos adereços
produzidos pelos Pataxó nos dias atuais. São tangas, cocares, colares, dentre outros. São
muitos e não daria para apresentar, neste espaço, todos os modelos. Por isso escolhi
alguns dos mais comuns entre os que são produzidos.
Figura 2-3. Tanga de Biriba ou estopa (2012). Tanga de taboa exposta para venda (2011). 7
11 A tanga ou tupisay8 é uma espécie de saia feita com fibras soltas amarradas a uma corda,
que envolve a cintura. Não há muita variedade, tendo em vista que é feita apenas de
duas matérias-primas diferentes, ambas de origem vegetal, como mostram as Figuras 2
e 3. As diferenças mais perceptíveis estão relacionadas ao tamanho, pois há pessoas que
gostam e usam as mais longas, abaixo dos joelhos, e há outras que as usam mais curtas,
acima dos joelhos. A tanga da biriba é macia e maleável, ao passo que a tanga de taboa
já não é tão flexível assim. A segunda é a mais procurada pelos turistas, sendo vendida
acompanhada por um colar, um cocar, um bracelete e uma tornozeleira. Um conjunto
que pode ser encontrado com penas de diversas cores.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
16
Figura 4-6. Pataxó durante os Jogos Nacionais em Tocantins (2011).
12 O cocar é um adereço usado na cabeça, confeccionado com penas apoiadas em uma
trama, geralmente feita com a palha de uma palmeira conhecida como aricuri. Mas é
possível encontrar outros materiais usados nessa produção, como a taboa que está
substituindo as penas em alguns modelos de cocar, como podemos ver nas Figuras 7 e 8.
Os cocares são dos adereços que mais apresentam variação, mediante pequenos
detalhes perceptíveis principalmente na combinação das cores das penas e nos
grafismos tecidos nas tranças que sustentam as penas ou outro material componente,
tais como nas Figuras seguintes 4-7.
13 As Figuras abaixo permitem perceber que as mulheres também usam cocares grandes,
muito similares aos cocares masculinos, mas o que é mais comum entre elas é o uso dos
cocares tipo coroinha, que podem ser usados com a parte das penas para baixo ou para
cima. Alguns possuem, na parte traseira, linhas enfeitadas com penas. A variedade
desse tipo de cocar evidencia-se mais pelas cores das penas, algumas das quais são
penas de galinha caipira: esses preservam a cor natural das penas, ao passo que outros
são feitos com penas de galinhas de granja, passíveis de serem encontrados em várias
cores, pois as penas são tingidas com anilina, tal como na Figura 13.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
17
Figura 7-9. Oiti com cocar de taboa (2010). Cocar de taboa (2012). Pedro com cocar que tem
aberturas entre as penas feito por Gilson (2012).
Figura 10-12. Jovem Pataxó, durante participação dos Jogos Nacionais em Tocantins (2011).
Jovem Pataxó durante desfile da ihé baixú nos Jogos Pataxó de Coroa Vermelha (2012).
Jovem Pataxó com cocar de taboa, durante desfile ihé baixú nos Jogos Pataxó de Coroa
Vermelha (2012).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
18
Figura 13. Meruka Pataxó durante participação nos Jogos Nacionais em Tocantins, em 2011.
14 Com relação aos colares, se levarmos em consideração as cores, a variedade e a
disposição das sementes, notaremos que são incontáveis os modelos em circulação.
Figura 14. Colares feitos de diversas sementes expostos em uma mesa para venda, 2011.
15 Os colares produzidos para a venda (Figura 14) são mais simples que os colares usados
para adornar os corpos indígenas em dias especiais (Figuras 15 e 16). O colar é a peça
final na composição dos adereços, usado, geralmente, em volta do pescoço, mas agora
também é possível encontrarmos grandes colares que, além de terem uma volta que
passa ao redor do pescoço, também se alongam e passam por debaixo dos braços, como
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
19
mostra a Figura 15. Podemos dizer que esses são modelos mais novos, confeccionados
mais para uso dos pataxós, sendo, portanto, mais comercializados internamente.
Figura 15-16. Colar Pataxó que envolve o pescoço e passa sob os braços (2012). Colar
Pataxó feito de tento, usado por um homem (2012).
16 Outro adereço que, ultimamente, tem ganhado espaço entre os Pataxó é o cinto, que
pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres. Os Pataxó já usavam o cinto no
passado, porém o seu uso se intensificou no presente. Atualmente pode ser encontrado
em diversos modelos e também com variedade de matéria-prima, geralmente as
mesmas utilizadas em outros adereços, sendo mais comum o de linhas de crochê, fios de
lã e penas.
17 Embora exista uma grande diversidade de adereços Pataxó que são diferenciados pelas
cores e materiais usados, eles possuem uma unidade que os distingue de adereços
produzidos por outros povos indígenas. Assim, embora outros indígenas compartilhem
o uso de determinados adereços, é possível distinguir um Pataxó em meio a outros
indígenas mediante a composição do seu traje, i.e., cocar, tanga e colares. Ademais,
costumam usar penas nas cores vermelha, verde, amarela e branca, o que termina
constituindo um padrão Pataxó composto por vários fatores que se combinam desde a
produção.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
20
Figura 17. Cinto feito com a trança do aricuri, enfeitado com sementes e penas e detalhes
de piaçava.
Quem produz os adereços?
18 Os adereços são feitos por homens, mulheres e crianças. A maioria é produzida por
adultos, mas as crianças também participam das atividades, acompanhando os pais,
mesmo que brincando. Os mais produzidos pelas crianças são os colares. As mulheres se
destacam na produção de peças menores, tais como os colares, brincos, pulseiras,
cintos, tornozeleiras, braceletes e cocares femininos, enquanto os homens na produção
dos cocares masculinos e das tangas. No entanto, a divisão social da produção não é
rígida, havendo mulheres que produzem cocares e tangas, assim como homens que se
esmeram na produção de adereços confeccionados, predominantemente, pelas
mulheres, como os colares. Não há, assim, predominância de regras, mas apenas o
desenvolvimento de habilidades para a confecção de determinados adornos,
considerados também os fatores relacionados à extração da matéria prima e ao ensino
transmitido pela família.
19 Durante as visitas que fiz às aldeias, no decorrer da pesquisa de campo, tive a
oportunidade de conhecer pessoas que se dedicam à produção de adereços, dentre as
quais Dona Senhorinha, da Aldeia Pé do Monte. Quando a visitei, ela estava
confeccionando uma tanga de estopa, o que não é uma atividade comum entre as
mulheres, talvez devido à dificuldade de extração do que chamamos “pano da estopa”.
Apesar dessa dificuldade, em outras aldeias, algumas mulheres também tecem a tanga,
mesmo que na maioria dos casos sejam os homens os extratores da fibra.
20 Ao se considerar a variedade de adereços e matérias-primas empregadas, conclui-se
que há muita gente envolvida com essa produção. No que concerne aos brincos,
braceletes, pulseiras e cintos há sempre um número maior de pessoas que dominam a
sua manufatura. Nesses casos, geralmente elas têm essa atividade como a principal
fonte de renda, tal como ocorre com a família de Ecleides, residente em Coroa
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
21
Vermelha. Ela ajuda a mãe na produção dos conjuntos das tangas de taboa 9 e outros
adereços menores, tais como colares, presilhas, etc. Outras famílias e indivíduos,
mesmo tendo outras formas de sustento ou profissão, também fazem adereços para
vender ou para, eventualmente, o próprio uso, tais como o professor Gilson, que leciona
na Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha e ainda encontra tempo para
confeccionar alguns cocares; Anderson, neto de Zabelê, que não tem na produção de
adereços sua fonte principal de renda, mas produz cocares sempre que recebe alguma
encomenda; e Voltairis, professor de Patxohã da Aldeia Pequi, que também se encaixa
nessa situação. Meu pai, Wilson, dedica-se diariamente à produção de cocares que
minha mãe expõe na loja do Comércio Indígena10, para vender aos turistas, mas se
aparecer algum índio querendo comprar, ele vende, não obstante por um preço bem
mais baixo, principalmente quando é para o índio revender.
21 Muitas pessoas dominam a produção de determinados adereços e conhecem as
matérias-primas, pois produzem constantemente; outros, muito raramente se dedicam
à atividade; e finalmente há quem já tenha produzido muito, tendo interrompido em
um determinado tempo. São pessoas que sabem fazer, mas não fazem. Podemos dizer
que o número de pessoas que sabem fazer é bem maior se comparado ao dos produtores
regulares. Há ainda quem tenha certa habilidade para produzir um determinado
adereço, ou que saiba produzir vários, mas que prefere se dedicar apenas a alguns tipos,
evidenciando tendência à certa especialização.
22 Em algumas aldeias concentra-se uma maior produção de determinados adereços. Esse
fato se deve, muitas vezes, à disponibilidade de matéria-prima encontrada em cada
lugar. Coroa Vermelha, por exemplo, concentra a produção de cocares devido à maior
facilidade de encontrar as penas, que são compradas ou adquiridas, gratuitamente, nas
granjas. Em Barra Velha concentra-se a maior produção de colares, devido à grande
variedade de sementes encontrada na aldeia e à habilidade das mulheres.
23 As famílias que têm como principal fonte de subsistência a produção de adereços
tendem a variar a produção para incrementar as vendas. A manufatura de
determinados produtos tem grande influência na família, uma espécie de aprendizado
que podemos considerar como uma herança familiar. Em Coroa Vermelha, Ecleides
ajuda a mãe na produção de uma variedade de objetos, dentre os quais a zarabatana 11,
jogo de arco e flecha12, presilhas, palito de cabelo e os conjuntos de tanga,
anteriormente mencionados. Quando lhe perguntei se a sua mãe fazia adereços há
muito tempo, ela respondeu que Benedita Sena já nasceu fazendo, uma vez que fazia
desde quando morava na Aldeia Trevo do Parque, pois aprendera com Dona Tereza, sua
avó. Ecleides diz que, no momento, sua avó não produz mais, pois agora vive da
aposentadoria, contudo seus tios, que moram na Aldeia Trevo do Parque,
constantemente vêm à Coroa Vermelha fazer entrega desses mesmos produtos que ela e
sua mãe confeccionam.
Matérias-primas usadas
24 Os Pataxó sempre usufruíram da extração de vegetais para a produção de diversos
objetos, tanto para uso pessoal quanto doméstico, fruto da transmissão de saberes dos
mais velhos aos mais jovens. Daí que os adereços Pataxó, ainda nos dias atuais, sejam,
em sua maioria, confeccionados a partir da extração de matérias-primas naturais.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
22
25 Os materiais utilizados para a produção dos adereços são diversos. E, embora os Pataxó
empreguem também materiais industrializados, não deixaram de utilizar as
tradicionais matérias primas, dentre as quais a trança do aricuri, a taboa, a estopa, as
penas, e as sementes que encontramos em grande variedade, em geral sementes de
frutos não comestíveis. As mais usadas são a juerana, o pariri, o tingui, o maui, o mata-
passo, o fedegoso, o olho de pombo, a salsa, o sabão de macaco e o tento, também
conhecido como pau-brasil.
26 Dos novos materiais que têm ganhado espaço na produção dos adereços, estão as linhas
de lã e de crochê, usadas principalmente na confecção dos bustiês e dos cintos, o que
possibilita a combinação com as cores dos cocares, como podemos observar na foto
abaixo:
Figura 18. Jovens Pataxós durante a festa do Araguaksã, Reserva da Jaqueira (2010).
27 As matérias-primas procedem de vários lugares. Cada aldeia possui diferentes fontes de
coleta e obtenção de materiais. Em Coroa Vermelha os Pataxó de outras aldeias
conseguem alguns materiais, principalmente a trança feita da palha do aricuri, usada
para confeccionar os cocares. Entretanto, a trança ali encontrada não é produzida pelos
índios, mas comprada junto aos regionais e revendidas em suas lojas de artesanato.
28 Até o século XX a produção da trança do aricuri era muito comum, feita tanto por
homens quanto mulheres Pataxó, para a confecção de chapéus e cocares. Atualmente
poucas pessoas ainda tecem essa trança. Entre as aldeias que visitei, tive a oportunidade
de encontrar duas senhoras, em aldeias diferentes, que ainda teciam a palha do aricuri
para fazer tranças, vendidas na própria aldeia: Dona Zabelê, na Aldeia Tibá, e Dona
Senhorinha, na Aldeia Pé do Monte que, por coincidência, aprendeu com Zabelê. Mas
não é raro encontrarmos pessoas, por todas as aldeias, que fazem referência à trança,
usando a seguinte frase: “minha vó fazia”. Hoje em dia, embora saibam fazer, muitos
velhos já não produzem mais, e eu suponho que a dificuldade de encontrar a matéria-
prima esteja determinando o seu desinteresse, bem como a comodidade de encontrá-la
já pronta e por um baixo custo não desperta nas novas gerações o interesse em
aprender. Voltairis, da Aldeia Pequi, afirma que comprava na mão de sua prima, que
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
23
comercializava as tranças no comércio indígena, em Coroa Vermelha. Por sua vez,
Cristiane, da Aldeia Cay, e Anderson, da Aldeia Tibá, dizem que compram trança em
Coroa Vermelha, mas também compravam “na mão” de Zabelê, quando ela tinha em
estoque.
29 Ao visitar a Aldeia Tibá tive a oportunidade de comprar um rolo da trança feita por
Dona Zabelê, que observou, na ocasião, que seu filho tinha conseguido as palhas com
muita dificuldade: “Aqui tá difícil, menina, quais num tem não, o pessoal chegaro aí,
cabaro com tudo, essas palha que fiz aí a gente pegou lá no... Onde cê pegou?”
perguntou, dirigindo-se ao seu filho que participava da conversa.
Lá no Moreira. É na beira da praia só que a maioria já é tudo pousada , só que a
gente procura, tem aqueles lotes que ainda tá sem construir é onde agente tira um
pouco, já no ponto da falesi também [...] a gente pega, tem um pedaço lá a gente vai
tirando. O lugar de pousada que eles tem a propriedade mesmo, eles num deixa
tirar não. (informação verbal)13.
30 Muitas vezes são esses e outros fatores que acabam interferindo na produção dos
adereços Pataxó, levando-os a recorrer até mesmo a materiais industrializados para
suprir a falta de determinadas matérias–primas.
31 As linhas de tucum, anteriormente usadas para produzir os colares, há alguns anos
foram substituídas pelas linhas enceradas, industrializadas, à semelhança de fios de
plástico encerados. Não foi possível descobrir se o motivo para essa nova utilização foi a
escassez do tucum na região ou a facilidade de acesso às linhas industrializadas.
Suponho que os dois fatores possam estar influenciando, já que a confecção da corda de
tucum é um pouco complexa. Muitos índios devem saber prepará-la, mas a facilidade de
comprar uma corda já pronta faz com que o tucum entre em desuso. Em Coroa
Vermelha, por exemplo, sei que não há ninguém que trabalhe com a produção ou venda
dessa corda, embora haja quem saiba tecê-la. Suponho que a última moradora em Coroa
que produzia a corda de tucum, tanto para vender quanto para fazer os seus colares,
porém em pequenas quantidades, era Dona Rosário, já falecida. Da sua produção adquiri
algumas dessas cordas para fazer algumas pulseiras: ela vendia os fios do tamanho
correspondente à feitura de um colar. Hoje, em Coroa, quando queremos confeccionar
um colar, vamos diretamente ao armarinho comprar um rolo de linha encerada. Essa
prática também se repete em outras aldeias Pataxó.
32 A dificuldade de encontrar penas grandes para fazer cocares maiores tem, por sua vez,
compelido os Pataxó a recorrerem a outros meios, como, por exemplo, usar a taboa no
lugar das penas, embora, em geral, usem penas de galinha de granja que, por serem
brancas, podem ser tingidas em várias cores, principalmente na produção dos cocares
femininos. Outra alternativa encontrada, por alguns pataxós, para manterem o estoque
de penas em casa é a criação de aves, como galinhas e patos. Naiara, que mora em Coroa
Vermelha, cria, em um cercado no fundo da sua casa, alguns patos de plumagem branca
e, sempre que necessita, deles retira penas. Na preparação dos adereços para os Jogos
Pataxó pude presenciar essa cena, pois minhas irmãs precisavam de penas para a
produção dos cintos e obtiveram-nas através de Naiara, que as retirou dos seus patos,
sem precisar abatê-los.
33 Como vimos anteriormente, para driblar a escassez de matéria-prima, os Pataxó
recorrem até mesmo a espaços externos às aldeias. Loro, que costuma fazer os cocares
de taboa para os Jogos Pataxó, diz que há dois locais externos nos quais a população de
Coroa Vermelha coleta a taboa, sendo um próximo a um bairro conhecido como
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
24
“Casinhas”, e o outro na estrada que liga Coroa Vermelha a Porto Seguro, próximo a
uma praia conhecida como Ponta Grande, onde a matéria-prima pode ser encontrada
em abundância.
Como se faz
34 Cada adereço produzido pelos Pataxó constitui parte de um longo processo que
compreende desde a extração, coleta ou compra da matéria-prima, que pode ser
simples, mas em geral é bem complexo, até a elaboração do objeto propriamente dito.
35 Para a confecção dos colares despende-se um bom tempo no preparo das sementes até
deixá-las no ponto certo, considerando-se que cada uma delas tem uma propriedade
particular que interfere nesse preparo. Por exemplo, é necessário saber o tempo certo
em que a semente está pronta para ser colhida, de modo que mais tarde ela não venha a
murchar. Outro fator que vale destacar é que nem todas as sementes podem ser
encontradas ao longo do ano, o que quer dizer que a confecção dos colares acompanha
o ciclo da natureza. Podemos, assim, encontrar uma abundante quantidade de colares
de uma determinada semente em algumas épocas do ano. Portanto, a produção de cada
adereço é limitada também pela matéria-prima disponível.
36 No caso dos cocares grandes é necessário reunir uma boa quantidade de penas. E
quando essas são compradas ou obtidas nas granjas, vêm sujas, tendo que ser lavadas,
tingidas e, na sequência, selecionadas apenas as maiores, geralmente as penas da asa.
Um aspecto importante na produção desses cocares maiores, que requer a necessária
atenção, é a curvatura natural que as penas, por serem da asa, possuem, curvaturas
para a direita e para a esquerda. É preciso, então, atentar para as penas que serão
dispostas dos dois lados, de modo a observar a inclinação natural de cada uma. A
produção do cocar inicia-se, basicamente, dispondo-se as penas em uma única corda,
que unirá todas pelo bico, ou seja, pela parte em que não há plumagem, mas apenas o
“talo”. Em seguida, deve-se passar uma linha na metade de cada pena, costurando-se
uma na outra, para que o cocar se mantenha firme. Nesse ponto já temos um cocar
simples. Agora é só fixá-lo na trança do aricuri, depois colocar mais uma trança para
apoiar na fronte, possibilitando que o cocar fique mais aberto.
37 Como observamos no início desta seção, a produção de um adereço Pataxó não se limita
apenas ao processo de montagem ou tecimento da peça, mas compreende desde a
extração da matéria-prima, que pode requerer maior ou menor esforço do produtor, na
dependência da sua localização. Voltairis, anteriormente referido, relata, com detalhes,
como é o processo de confecção de uma tanga de biriba:
Pra fazer uma tanga é o seguinte: tem que primeiro fazer uma inxó que é de
madeira, tem que ser uma madeira resistente pra que ela não possa pocar ou aliás
lascar na hora de tá batendo lá na madeira. A melhor é feita de braúna. Depois da
inxó pronta aí sim que vai pra mata. Tem que encontrar a biriba que é uma madeira.
Você tem que encontrar ela bem certinha, ela com alguns caroços ou aliás nós, ela
não presta, não serve.
Dependendo do local, por que tem biriba as vez que tá num local lá embaixo no
barranco, num buqueirão que a gente fala, já tem outras que fica na chã em cima.
Quando ela é na chã a gente pode ficar no chão mesmo, mas quando é lá no brejo,
tem fazer um jurá pra poder a gente subir e tirar.. [...] Se for pra criança você tira de
uns quatro palmo, agora se for pra adulto é mais uns dez palmos. E aí tem um
processo que a biriba é o seguinte se for tirar ela com facão, ela não sai a fibra assim
tipo macia, se for de facão ela sai assim tipo uma casca. A inxó serve pra isso, pra ela
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
25
ir machucando a madeira pra ir saindo as fibra mole, ir fofando. E a partir de que
tira lá, aí sim, traga pra casa e deixa ela um pouquinho no sol para poder secar um
pouco. Se for fazer molhado acaba manchando a roupa, até mesmo a nóida na sua
mão ela acaba deixando. E aí depois de seca é só desfiar ela, tem uma parte tipo da
casca que ela fica ruim e não serve, então a parte de dentro que é a fibra macia aí
que serve pra tecer a tanga (informação verbal)14.
Comercialização dos adereços
38 Os adereços produzidos são vendidos tanto para pessoas da própria aldeia quanto para
pessoas de fora, normalmente turistas. Há, no entanto, uma diferença: quando a venda
é para o próprio parente, o preço é mais baixo, ao passo que para os turistas um pouco
mais alto. O preço para revenda também é mais em conta. Anderson, da Aldeia Tibá,
comentou que para os parentes ele vende um cocar grande a trinta reais e para os
turistas ele pede até cento e cinquenta reais, sendo o preço mínimo setenta reais.
39 As famílias que se dedicam à produção artesanal em Coroa Vermelha vendem no
atacado e varejo, tanto para os comerciantes indígenas quanto para os não indígenas.
Ecleides, porém, diz que os conjuntos de tangas que ela e sua mãe confeccionam,
dificilmente vendem a varejo, e no atacado transacionam mais para comerciantes
externos, entre os quais um comerciante de Porto Seguro e outro de Trancoso.
40 Nem todas as famílias que estão envolvidas com a produção e venda dos adereços
possuem lojas na área do Parque Indígena, o que se deve a vários fatores: alguns nunca
ganharam uma loja; outros ganharam e, passado certo tempo, venderam; e outros, por
não terem condições de manter a loja recebida, alugaram-na, para garantir, assim, um
valor fixo mensalmente. Por outro lado, nem todas as pessoas que têm um ponto de
venda no comércio indígena, produzem o que vendem, ou seja, a maioria compra de
outros índios que se dedicam mais à produção. E aqueles que produzem um
determinado adereço e têm loja, sempre colocam outros produtos para venda, de modo
a garantirem alguma venda diária, facultando ao turista interessar-se e comprar um
artigo ou outro.
41 Dos adereços Pataxó, os que mais são comprados pelos não índios são os colares,
havendo também uma grande demanda por outros produtos, tais como brincos, palitos
de cabelo e presilhas. A Aldeia Barra Velha é a maior fonte da produção de colares e,
como tal, exporta para as outras aldeias Pataxó.
42 Com relação às tangas e cocares, os mais comprados pelos não índios são os conjuntos já
citados anteriormente que, por serem compostos de um cocar mais simples e tanga de
taboa, são bem mais baratos do que uma tanga de estopa e um cocar maior. Esse kit
pode ser encontrado nas lojas do Parque Indígena, assim como entre os índios que
vendem nas praias de Coroa Vermelha e da região de Porto Seguro. No local
denominado Passarela do Álcool, em Porto Seguro, também é possível encontrar
aproximadamente três barracas que vendem esses conjuntos.
43 A comercialização dos adereços Pataxó está estreitamente ligada à venda de outros
objetos produzidos por esse povo. E se estende a vários espaços, pois sendo uma
atividade que rege a economia da maioria das aldeias, “obriga” os Pataxó a se
deslocarem, com frequência, para garantir a sua sobrevivência. São vendidos nas
próprias aldeias e nas praias da região, principalmente aquelas mais próximas, como as
praias de Caraíva, Trancoso, Arraial D’Ajuda, Coroa Vermelha, Porto Seguro, Prado e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
26
Cumuruxatiba. As vendas nas praias são mais frequentes no verão, quando há um fluxo
maior de turistas na região.
A comercialização de artesanato, ainda que dependente de consumidores sazonais,
aparece como uma indispensável via de acesso ao mercado, mesmo para os índios
das comunidades do Monte Pascoal que, distantes dos principais pontos de
comércio, têm que se submeter a intermediários ou se ausentar dos seus locais de
moradia na alta estação. (Sampaio 2000: 12).
44 Durante o inverno, a alternativa é recorrer a lugares mais distantes, mediante a
participação em feiras de artesanato e eventos que permitem a comercialização. Mas
ainda assim essas oportunidades não podem ser aproveitadas por todos, já que poucas
são as famílias que reúnem as condições para custear as viagens, o que submete muitas
delas, na maioria dos meses do ano, a uma situação de grave restrição econômica,
principalmente em Coroa Vermelha, local em que as famílias dependem, quase que
exclusivamente, da venda desses materiais.
Uma teia que se tece
45 Embora o povo Pataxó seja um povo grande, disperso territorialmente por várias
aldeias, há um fluxo constante entre essas, em decorrência de vários fatores, sejam
visitas esporádicas a familiares, migração de famílias entre as aldeias, seja ainda o
deslocamento para compra e venda de artesanato. Esses laços constantes entre os
pataxós permitem que os adereços circulem, possibilitando que determinadas aldeias,
que detêm a fabricação de um tipo específico de adereço, ofereçam o seu produto a
outras, aumentando o seu campo de produção e venda. Em Coroa Vermelha,
atualmente, por exemplo, é muito difícil encontrar alguém que confeccione a tanga de
biriba, embora haja pessoas que saibam fazer, como já mencionado. Mas em
decorrência da escassez da matéria-prima há índios que compram essas tangas já
confeccionadas de outros índios, estabelecidos nas aldeias de Mata Medonha e Juerana.
A escassez de penas também já ocorre, como lembrou Voltairis, que foi compelido a
recusar uma encomenda externa de cerca de vinte e cinco cocares devido à falta dessa
matéria-prima.
46 Os laços de parentesco têm grande influência sobre a circulação dos adereços, pois, em
muitos casos, são os primos e tios, moradores de outras aldeias, que viabilizam o
trajeto, tanto da matéria prima quanto dos adereços já prontos. Coroa Vermelha é a
aldeia que concentra o maior número de famílias Pataxó e a maioria destas tem
familiares dispersos por outras aldeias. Isso faz com que ela funcione como o elo com a
maioria das aldeias, formando uma grande teia, o que assegura que a dinâmica da
criação artística, muito desenvolvida entre os Pataxó de Coroa Vermelha, também
alcance as demais aldeias Pataxó.
47 As redes que entrelaçam as aldeias Pataxó através da circulação dos adereços --
similarmente ao que Bronislaw Malinowski registrou nas Ilhas Trobriand (1984), na
Nova Guiné, através do Kula, o intercâmbio ritual ao longo do qual os colares de
conchas vermelhas denominados souvala circulavam no sentido horário desse círculo e,
na direção oposta (anti-horário), os braceletes confeccionados de conchas brancas, os
mwali - ultrapassam as fronteiras da Bahia, estendendo-se aos Pataxó de Minas Gerais.
48 Em relação aos Pataxó que moram nas aldeias do estado de Minas Gerais, é possível
perceber que os seus adereços estão bem conectados com a dinâmica promovida pelos
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
27
Pataxó da Bahia. Por terem um forte sentimento de pertença ao lugar de onde saíram
(Barra Velha), os Pataxó ali estabelecidos mantêm relação também através dos adereços
que, na Bahia, são usados, dado demonstrativo de que nem as fronteiras territoriais
nem a distância impede a circulação dos adereços, o que assegura uma unidade, ou
como poderíamos dizer, um padrão Pataxó. Mas, cabe ressaltar que, não obstante
perceba-se a tendência à criação de um padrão, não prevalecem constrangimentos com
esse fim, o padrão ou a unidade se constituindo a partir da imagem de uma
“comunidade imaginada” (Anderson 1989: 14), que perpassa territórios distintos e
distantes.
Conclusão
49 Propomos, neste artigo, uma descrição dos adereços Pataxó, compreendendo desde a
matéria prima até a comercialização, e destacando, na produção, os processos de
aprendizagem que os mais velhos transmitem aos mais jovens, tal como lhes foi,
reciprocamente, transmitidos.
50 Nessa pequena mostra é possível perceber a variedade dos adereços Pataxó, que se
desdobra à medida que um novo detalhe é acrescentado, seja uma nova matéria-prima
utilizada em um cocar, um colar ou um cinto. Os detalhes, tanto produzidos por
matérias-primas de origem vegetal e animal quanto por produtos industrializados,
tornam-se significativos e agregam valor aos objetos.
51 É notável, assim, a grande rede que se tece através da circulação dos adereços,
permitindo aos Pataxós se manterem em uma dinâmica constante, de criação de novos
modelos, de inserção de novas matérias-primas, facilmente expandidas, uns e outras, às
diversas aldeias Pataxó, o que tende a produzir uma certa unidade nos adereços do
povo Pataxó, constituída, é claro, por uma enorme variedade...
BIBLIOGRAFIA
Anderson, Benedict. 1989. Nação e nacionalismos. São Paulo, SP: Ática.
Lagrou, E. 2010. “Arte ou artefato? Agência e significado nas artes indígenas.” Proa – Revista de
Antropologia e Arte 02 (1). Acesso em: 23 mar., 2011 (http://www.ifch.unicamp.br/proa/DebatesII/
elslagrou.html).
Malinowski, Bronislaw. 1984. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do
empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova
Guiné melanésia. São Paulo: Abril Cultural.
Sampaio, José Augusto L. 2000. “Breve história da presença indígena no extremo sul baiano e a
questão do território Pataxó de Monte Pascoal.” Pp. 121 - 136 in Política indigenista leste e nordeste
brasileiros, organizado por M. A. do E. SANTO. Brasília, DF: Ministério da Justiça/Funai.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
28
NOTAS
1. Mapa elaborado por Juari Braz.
2. Entrevista concedida por Cristiane Maria de Oliveira Jandaia, 33 anos, em março de 2011, na
cidade de Cumuruxatiba - BA.
3. A Escola Kijetxawê Zabelê, com sede na Aldeia Tibá, distribui-se em seis núcleos localizados em
aldeias e extensões, na região de Cumuruxatiba. São elas: Aldeia Tibá, Pequi, Cahy, Maturembá
(extensão da Tibá), Alegria Nova e Monte Dourado.
4. Entrevista concedida por Anderson Souza Ferreira, 29 anos, durante pesquisa de campo em
janeiro de 2011, na cidade de Cumuruxatiba – BA.
5. Entrevista concedida por Voltairis - Irisnan Pataxó-, durante pesquisa de campo na Aldeia
Pequi, realizada em fevereiro de 2011.
6. Idem.
7. Todas as fotografias elaboradas pela autora.
8. Palavra em patxohã para tanga ou roupa.
9. Conjunto de tanga de taboa é um kit composto por um cocar, um colar, um bracelete, uma
tornozeleira e uma tanga, enfeitados com penas de galinha de granja tingidas. Pode ser
encontrado sob diversas cores.
10. Também conhecido como Shopping Indígena, o comércio de artesanato fica localizado no
Parque Indígena, uma área próxima à praia de Coroa Vermelha. Wilson não é Pataxó, mas por
viver na mesma região, convive e mantém contato com os Pataxó desde a infância.
11. Feita de taboca, uma espécie de bambu, a zarabatana é um arma de sopro acompanhada de
pequenas flechas usadas, hoje, por alguns povos indígenas, para abater pássaros.
12. Um kit feito pra venda composto por um pequeno arco, um bajaú, com algumas flechas e uma
pequena lança de pati.
13. Entrevista concedida em março de 2011, na Aldeia Tibá.
14. Entrevista concedida por Voltairis - Irisnan Pataxó, durante pesquisa de campo na Aldeia
Pequi, realizada em fevereiro de 2011.
RESUMOS
O presente artigo é baseado na minha dissertação de mestrado intitulada “Arte e Identidade:
adornos corporais Pataxó”, fruto de uma pesquisa etnográfica realizada entre 2010 e 2012, junto
ao povo Pataxó do Extremo Sul da Bahia. Ele descreve os adereços pataxó, destacando os
processos de aprendizagem, produção, comercialização e circulação entre as aldeias, e apresenta
também uma pequena mostra da variedade existente.
This article is based on my dissertation entitled "Art and Identity: Pataxó body adornments", the
result of an ethnographic research conducted between 2010-2012, among the Pataxó people from
the South of Bahia. The research describes the Pataxó adornments, highlighting processes of
learning, production, commercialization and exchange between the different communities, and
presents the diversity of the Pataxó’s artwork.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
29
ÍNDICE
Keywords: adornments, Pataxó Indians, identity, art
Palavras-chave: adereços, Pataxó, identidade, arte
AUTOR
ARISSANA BRAZ BOMFIM DE SOUZA
Mestre em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia. Professora na Escola
Indígena Pataxó Boca da Mata.
arissana_braz@yahoo.com.br
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
30
Aldeia Velha, “nova na cultura”:
reconstituição territorial e novos
espaços de protagonismo entre os
Pataxó
Aldeia Velha, “nova na cultura” (“new in the culture”): territorial remaking and
new spaces for protagonism among the Pataxó Indians
Hugo Prudente da Silva Pedreira
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2013-05-06
Aceito em: 2013-09-26
1 Neste artigo, procuro demonstrar como a crescente mobilização pela recuperação de
seus direitos territoriais, bem como o surgimento e a consolidação de novas aldeias
ensejaram, entre os Pataxó, a criação de novos espaços políticos de protagonismo, dos
quais certos agentes lograram fazer uso de modo inovador e criativo. Para tanto,
recorro ao contexto específico da Aldeia Velha, onde realizei trabalho de campo em
2011. Esta aldeia está situada no distrito de Arraial d'Ajuda, Porto Seguro, e é contígua
ao núcleo urbano do distrito. Ela está separada dos bairros da periferia do Arraial pelo
leito de uma rodovia e por um estreito corredor de mata que se alonga até o
remanescente florestal que ocupa mais da metade da Terra Indígena Aldeia Velha. Esta
TI abriga apenas uma aldeia e foi declarada de posse permanente do povo Pataxó no
início de 2011, com uma área de pouco mais de 2.000 ha. Ela é uma das seis terras
indígenas pataxós no extremo sul da Bahia, que estão distribuídas entre os municípios
de Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte e que, conjuntamente, reúnem
mais de trinta aldeias. Em meu trabalho de conclusão da graduação, tratei do
estabelecimento e da consolidação da Aldeia Velha no território Pataxó 1. Aqui,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
31
apresento alguns argumentos já desenvolvidos naquele trabalho, com o intuito de
contextualizar a atuação de lideranças diferentemente posicionadas no cenário político
da aldeia e, por fim, de discutir algumas das implicações de assumirmos que estas
diferentes possibilidades de atuação política se encontram em um diálogo sobre a
cultura no interior da cultura2. Como veremos, sugiro que por seu uso socialmente
eficaz para a reversão de um status negativo, a “cultura”, discurso nativo sobre a
diferença, pode ser assumida como discurso performativo - nos termos de Bourdieu
(1996: 110-111). Em um outro nível, por seu caráter englobante, a cultura, lugar de
encontro e de confronto entre os distintos atores sociais indígenas e os valores aos
quais aderem, pode ser assumida como arena significativa - nos termos de Cohn (2006:
10).
2 O território Pataxó tem um desenho complexo, eivado de descontinuidades,
atravessado pelos contextos regionais rural e urbano e envolvido pelos laços de
parentesco e solidariedade étnica que vinculam os Pataxó das diferentes aldeias – elos
crescentemente fortalecidos pela mobilização política e pela mobilidade territorial. O
coração deste território é a sua porção contígua ao Monte Pascoal, que abriga, hoje,
doze aldeias, destacadamente a aldeia Barra Velha, chamada “aldeia mãe”, onde os
Pataxó foram reunidos, oficialmente, em 1861. Vale lembrar que, muito antes disso, ao
longo de todo o período colonial, o Monte Pascoal já se afigurava como reduto da
resistência indígena na região. O isolamento ao qual os Pataxó foram submetidos a
partir do aldeamento em Barra Velha parece ter convencido a sociedade envolvente de
que em Porto Seguro já não havia índios.
3 Após quase um século de virtual invisibilidade, os Pataxó – como eles próprios afirmam
– “saíram no conhecimento” da sociedade regional através do violento episódio de
1951. Para a mídia regional e nacional, a “Revolta dos caboclos de Porto Seguro”, para
os Pataxó, o “Fogo de 51”; um severo e injustificado ataque das polícias de Prado e Porto
Seguro ao último refúgio dos Pataxó, à época. Totalmente incendiada, a aldeia seria
abandonada por todos os moradores. Compelidos à dispersão, os indígenas buscariam
se inserir na camada subalterna da sociedade envolvente, enfrentando severas
restrições e experimentando duramente o preconceito anti-indígena arraigado
regionalmente e recrudescido pelos acontecimentos. Este quadro, bem como o
sentimento de terem sido expropriados de sua terra, convenceu os Pataxó a
empreender o retorno a Barra Velha e o restabelecimento da comunidade dispersa.
Ante às inúmeras dificuldades enfrentadas na diáspora, o reforço da solidariedade
étnica foi a sua opção – acertada – para a superação de um quadro desigual.
4 A partir de 1961, entretanto, sobrepôs-se ao território tradicionalmente ocupado pelos
Pataxó um parque ambiental administrado pelo IBDF (posteriormente Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA), órgão federal que
passou a obstar as atividades agrícolas e o acesso dos indígenas aos recursos naturais
tradicionalmente aproveitados, levando-os a uma situação de fome. Ciosos de sua
precedência no território e de seus direitos como um povo indígena, lideranças pataxós
realizaram diversas viagens a Brasília, Recife e Rio de Janeiro, demandando do SPI
(Serviço de Proteção aos Índios) e posteriormente da FUNAI (Fundação Nacional do
Índio) o reconhecimento daqueles direitos. Como destacou Oliveira (1998: 65-66), as
viagens de lideranças dos povos indígenas do nordeste em busca do reconhecimento e
do amparo oficiais “configuraram verdadeiras romarias políticas, que instituíram
mecanismos de representação, constituíram alianças externas, elaboraram e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
32
divulgaram projetos de futuro, cristalizaram internamente os interesses dispersos e
fizeram nascer uma unidade política”. Implicado na luta pela restituição de suas
condições materiais de sobrevivência (i.e., a recuperação do seu território),
apresentava-se para os Pataxó o desafio de reapropriarem-se da identidade social da
qual foram expropriados em uma longa história de opressão, nos termos de Pierre
Bourdieu (1996:121). Dito de outro modo, os Pataxó, e marcadamente as suas lideranças,
se dedicaram ao esforço de se reapossarem do poder de definir a si mesmos em seus
próprios termos, em coerência com a sua experiência histórica e a favor de seus
próprios interesses, i.e., como povo indígena, portador de certos direitos.
5 O estabelecimento de um posto da FUNAI em Barra Velha, em 1969, deu início a uma
série de acordos entre a Fundação Nacional do Índio e o IBAMA, gestor do Parque. Em
1980, uma estreita faixa de 8.600 ha foi reservada para os Pataxó, superposta ao longo
do limite norte do Parque. Apesar da área exígua e do não questionamento direto da
legitimidade do estabelecimento de um parque ambiental sobre área de ocupação
tradicional indígena, a decisão do governo fortaleceu o movimento dos Pataxó que
vinham procurando retornar a Barra Velha e os estimulou, por outro lado, a reivindicar
seus direitos sobre os territórios formados na diáspora. Esta fase de surgimento e
consolidação de novas aldeias foi analisada por Bernhard Bierbaum. Desenhavam-se,
então, significativas mudanças no quadro territorial e sociopolítico pataxó. Com
diferentes motivações, indivíduos destacados como lideranças lançavam as bases para a
organização de novas aldeias, convocando aliados entre os indígenas na diáspora ou
oriundos de outras aldeias, reunindo em torno de si, em cada caso, uma comunidade
que passa, então, a reconhecê-lo como cacique, amparando-o no pleito pelo
reconhecimento oficial de uma nova parcela do território. O sucesso de algumas destas
iniciativas suscita uma significativa revalorização da figura do cacique (Bierbaum 2008:
460). O crescimento do poder dos caciques decorre, portanto, da situação intercultural,
já que o seu papel de mediador das relações de uma comunidade com o universo não
indígena ganha centralidade na luta pela terra, que é uma luta pelo reconhecimento de
direitos.
6 O núcleo habitacional mais expressivo que emerge neste contexto é a aldeia de Coroa
Vermelha. Ela se consolidaria, nos anos seguintes, como um dos principais centros de
gravidade da mobilização política dos Pataxó. Formada em torno de duas lideranças
opositoras, ela cresceria, inicialmente, a partir da reunião de indígenas até então
dispersos na região, atraídos, sobretudo, pela crescente demanda turística no local que
lhes propiciava a venda de artesanato. Já consolidada em meados dos anos setenta,
Coroa Vermelha passa a receber, destacadamente, numerosas famílias indígenas vindas
diretamente de Barra Velha, “o que é significativo para que se dimensione o estreito
vínculo ainda hoje prevalecente entre as duas aldeias" (Sampaio 2010: 128). Assim, a
centralidade política de Coroa Vermelha, certamente, deve muito à centralidade
simbólica da “aldeia mãe” Barra Velha. Mobilidade territorial, vitalidade dos laços
sociais ensejados pelas relações de parentesco, persistência dos vínculos com a aldeia
de origem e mobilização em torno da ocupação e garantia do território concorrem,
desse modo, para o definitivo estabelecimento de uma nova aldeia. Para retomar a
leitura de Oliveira (1998), é interessante observarmos que esta implicação entre
demanda por direitos territoriais, reelaboração identitária e reordenamento do sistema
político expressa o envolvimento ativo dos Pataxó em um processo de territorialização,
no seio do qual a identidade étnica se conforma como vetor de ação social.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
33
7 Na segunda metade da década de 1990, os Pataxó experimentaram uma fase importante
do seu processo de reconstituição territorial. Nesse período, as ações de retomada
viriam consolidar uma estratégia eficaz para a deflagração de processos de
reconhecimento oficial de parcelas territoriais antes expropriadas. Foi nesse contexto
que a Aldeia Velha foi reinserida no território Pataxó, através da mobilização de
famílias indígenas, que viviam no Arraial d'Ajuda e vizinhanças, lideradas pelo cacique
Ipê e com o apoio do Conselho de Caciques Pataxó (Sampaio 2000).
8 Ipê nasceu em 1956, na região do Monte Pascoal, onde sua família vivia de sua própria
produção agrícola e da venda de um pequeno excedente que era levado até o povoado
de Caraíva. A família não tinha registro de propriedade da terra, situação que
compartilhava com outros vizinhos indígenas. Como Ipê afirma, "o pessoal não tinha
conhecimento na lei", estando, assim, vulnerável ao assédio de grileiros. Ele foi o
primeiro a deixar a casa dos pais, estabelecendo-se no Arraial d'Ajuda aos catorze anos,
na casa de um tio. Dois anos mais tarde, já havia conseguido registrar a posse de um
pequeno lote de terra, através da mediação do administrador local, vinculado ao
município de Porto Seguro. Algum tempo depois trouxe a sua família, que havia cedido
às pressões de um grileiro de terras e abandonado seu lugar de origem. Seus pais
permaneceriam no Arraial, mas Ipê e os irmãos continuariam migrando para outros
lugares na região, em busca de trabalho.
9 Pelo menos desde o final dos anos 1960, o Arraial d'Ajuda vinha atraindo famílias
indígenas, sobretudo de Barra Velha e adjacências. Além de alguma oportunidade de
trabalho, o acesso à posse legítima de pequenos lotes de terra, que exigia, então, pouco
investimento, constituía um atrativo para esta população. É comum ouvir-se, entre os
índios, que nesse tempo, "o Arraial não tinha valor", apresentando-se como uma
alternativa interessante para famílias que vinham enfrentando, já havia alguns anos,
diferentes formas de pressão em seus lugares de origem, como as agressões aos direitos
territoriais dos Pataxó bem o demonstram. Um pequeno grupo de moradores indígenas
ocupava a chamada rua da lapinha, que passou a ser reconhecida no Arraial como lugar
dos “caboclos”.
10 Após quinze anos vivendo em Itabela, município vizinho a Porto Seguro, Ipê iniciaria
sua trajetória no movimento indígena a partir de Coroa Vermelha. Aliado ao seu primo
Itambé, um dos dois líderes com reconhecida precedência naquela aldeia, ele se
estabeleceu ali, já com sua esposa e filhos, e se introduziu no “trabalho”:
Aí que fez eu me envolver também na questão indígena. Por que, vez a gente tá de
fora do trabalho, a gente não tá sabendo de nada, mas quando a gente começa a
entrar envolvendo no trabalho, a gente vê. A gente descobre muita coisa, e a gente
aprende também muita coisa. Aí que começou eu me envolver. Aí... aquilo me tocou
também, né? Me tocou que, geralmente, esses índios daqui [do Arraial d'Ajuda]
precisavam de apoio também, porque vivia aí, né? Eu conhecia muito bem a
situação de todos, aí eu comecei a me envolver nessa questão.
11 Utilizando-se de suas relações próximas com os índios residentes no Arraial d'Ajuda,
Ipê começou a reunir algumas famílias com a intenção de informá-las sobre os seus
direitos e organizá-las para “fazer uma aldeia”. Após a segunda ação de retomada na
Aldeia Velha, em 1998 – cinco anos após uma primeira tentativa frustrada –, a
comunidade se estabeleceria ali definitivamente. Algumas das famílias envolvidas neste
movimento haviam sido expulsas do local, anos antes; as outras, suas aliadas,
provinham, sobretudo, da região do Monte Pascoal. O antropólogo Rodrigo Grunewald
(2000: 71-73), que entrevistou Ipê um ano antes da retomada definitiva da Aldeia Velha,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
34
informa-nos que o nome da aldeia já havia sido escolhido e que os índios liderados por
Ipê já o consideravam cacique antes mesmo da conquista da terra, o que também ficou
registrado na declaração dos “Índios Pataxós Sem Terras”, escrita em 1993. 3 Devemos
levar em conta, portanto, que a Aldeia Velha enquanto comunidade política é anterior
ao seu definitivo estabelecimento no território.
12 Logo que cheguei em Aldeia Velha, ouvi que aquela era uma aldeia diferente das outras
porque Ipê "não chamou índio de aldeia, chamou índio da cidade". Ipê explica que
procedeu assim, entre outras razões, "pra não ter problema com os caciques". Tudo
indica que ele buscava, também, um espaço onde pudesse exercer mais livremente a sua
vocação política: “Eu não quis ocupar índio de aldeia nenhuma pra trazer pra Aldeia
Velha. Por quê? Porque [...] eu ia sentir assim, que eu tava tirando os índios das outras
aldeias pra formar uma aldeia pra mim, e o meu interesse não era esse”. Ipê sempre
enfatiza que os índios no Arraial d'Ajuda não tinham “conhecimento” de seus direitos,
referindo sua atuação entre eles como um trabalho de ensino, de convencimento, como
reconhece uma moradora da Aldeia Velha: "Ipê ensinou muitas pessoas aqui a se
reconhecer como indígena". Destacando a singularidade do seu trabalho, Ipê declara
que, diferentemente de outras lideranças atuantes na época, ele “conhecia a aldeia e
conhecia os índios que vivia fora”, estando, portanto, habilitado a agir como mediador
entre os índios que viviam no Arraial d'Ajuda e o crescente movimento de afirmação
identitária e reivindicação política e territorial pataxó, que tinha em Coroa Vermelha o
seu espaço mais ativo. Para tanto, o domínio de um discurso politicamente vigoroso e
inovador em torno dos direitos dos índios, e especialmente do direito à terra, foi
decisivo para que Ipê alcançasse a posição de liderança dos “índios desaldeados” –
assim designados, atualmente, pela comunidade. A aldeia enquanto comunidade
política é, assim, inaugurada por um compromisso entre o cacique e os seus liderados,
cuja posição de mediador do acesso ao reconhecimento, aos direitos e à terra é a
garantia oferecida pelo primeiro em troca da lealdade dos últimos. A retomada
consolida esta parceria, que a precede e é, de fato, sua condição. Nos termos deste
compromisso, a palavra “trabalho” ganha uma ênfase moral, pretende desenhar um
ideal de liderança: movido pelo desejo de "fazer o trabalho" e, por fim, amadurecido
pelo próprio esforço, pois "o trabalho ensina". Do outro lado do jogo político, aqueles
que mostraram determinação e "quiseram entrar no trabalho" foram os primeiros
aliados, formaram a base de sustentação política do cacique, e sentiram, com a chegada
de novos moradores, que a sua precedência no território deveria ser admitida como
precedência, também, de seus interesses.
13 O afastamento de Ipê do cargo de cacique foi precipitado por uma crise nesta parceria.
Em agosto de 2008, ele renuncia ao posto de cacique, em decorrência de um sério
conflito com a família indígena há mais longo tempo estabelecida no local, visto que ali
residente desde antes da retomada. No mesmo ano, Antônio, primo mais jovem de Ipê
recentemente estabelecido em Aldeia Velha, propôs à comunidade tornar-se cacique.
Ipê, então, decidiu concorrer com Antônio e, pela primeira vez, foi realizada uma
eleição para cacique em Aldeia Velha. Por fim, Ipê foi sucedido por Antônio, escolhido
pela maioria da comunidade. Como André Rego (2012: 105-108) indicou a respeito de
Coroa Vermelha, a eleição de um cacique pataxó é uma forma de escapar aos "conflitos
internos". O cacique eleito reivindica uma autoridade pretensamente independente das
lealdades implicadas na fase inicial de ocupação da aldeia. A liderança de Ipê, amparada
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
35
no carisma de sua personalidade e no reconhecimento de uma conquista, cederá lugar,
então, a um novo discurso de autoridade.
14 Antônio nasceu e cresceu no Arraial d’Ajuda, tendo morado no centro do distrito até a
sua adolescência, quando deixou o lugar e foi residir na Aldeia Coroa Vermelha, onde
residiu por mais dezoito anos. Ali começou sua experiência como liderança indígena na
associação comunitária que administrava o comércio de artesanato em Coroa
Vermelha. Ele foi vice-presidente e, em seguida, presidente desta associação,
terminando sua gestão em 2002. Ainda em Coroa Vermelha, Antônio foi candidato a
vereador do município de Santa Cruz Cabrália, em 2004. “Eu comecei sendo presidente
de associação, vice-presidente de associação em Coroa Vermelha”, parecendo
reconhecer que a sua posição atual enquanto líder indígena, cacique de uma aldeia
pataxó, é a etapa atual de uma trajetória política iniciada no âmbito daquela associação.
Não é ocioso lembrar a já referida posição de destaque que Coroa Vermelha ocupa no
território Pataxó; ela é a mais populosa e mais urbanizada das aldeias, concentrando
muitas das iniciativas dos Pataxó relacionadas aos poderes estadual e municipal e ao
terceiro setor, sob a forma de projetos em convênio com as associações indígenas. Mais
tarde, Antônio voltaria a morar no Arraial d'Ajuda, em busca de trabalho, exercendo a
profissão de pedreiro. Em 2007, ele já morava em Aldeia Velha e seu nome foi incluído
na lista dos integrantes do "Conselho de Lideranças de Aldeia Velha", organizado por
Ipê antes do seu afastamento.
15 Antônio parece ter feito um caminho muito semelhante ao de Ipê, entre o Arraial
d'Ajuda, Coroa Vermelha e Aldeia Velha, com uma experiência de aprendizado político
em Coroa. Entretanto, podemos inferir que Antônio encontrou um espaço mais
receptivo a um novo tipo de lideranças, por ocasião da composição dos quadros
burocráticos das associações. Lideranças, ao que tudo indica, com disposições e
competências diferentes daquelas exigidas na fase de maior expansão do território.
Diferentemente de Ipê, ele não define sua trajetória política como solitária ou em
oposição aos outros caciques. Antônio reivindica para si uma postura de maior diálogo
com as estruturas de poder exteriores à aldeia, como o Conselho de Caciques e a
prefeitura de Porto Seguro. Tanto para Ipê como para Antônio, o parentesco foi um
fator politicamente relevante. Como já foi assinalado, a inserção de Ipê em Coroa
Vermelha, e mesmo no movimento indígena, foi mediada pelo primo Itambé. Antônio
também foi logo acolhido como liderança pelo primo Ipê, como vimos. Pelo lado
materno, eles são primos em primeiro grau e, pelo lado paterno, Antônio é filho de um
primo de Ipê, sendo também sobrinho de Itambé. Esta espécie de continuidade de fundo
é mais um registro da estreita relação entre Coroa Vermelha e Aldeia Velha.
16 As atuais lideranças da Aldeia Velha reconhecem o trabalho de Ipê, mas costumam
referir ao seu período como cacique como tendo sido exercido de modo muito
centralizador, tanto no plano interno como ao nível das relações com as outras aldeias.
É comum ouvir-se que a aldeia, naquela época, era “pouco divulgada”. Ainda sob a
liderança de Ipê, algumas destacadas lideranças jovens decidiram formar um “grupo de
cultura” e assumir o trabalho de fazer com que Aldeia Velha fosse "reconhecida" pelos
Pataxó de outras aldeias de maior prestígio, como Coroa Vermelha e Barra Velha. Este
grupo organizou os chamados "intercâmbios culturais", i.e., visitas a outras aldeias
pataxós para "desenvolver a cultura", sempre tendo em vista a participação dos mais
jovens. Fazendo uma comparação com as outras aldeias, um índio ali residente declarou
que apesar de velha, como atestam os vestígios arqueológicos ali encontrados, a sua
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
36
aldeia seria ainda “nova na cultura”. Neste sentido, é bastante significativo que a
primeira daquelas visitas tenha sido feita a Barra Velha. Atualmente, o bom
desempenho da Aldeia Velha nos Jogos Indígenas Pataxó, promovidos sempre no mês
de abril, bem como nos cantos e danças que têm lugar nas situações de reivindicação
política que reúnem as várias aldeias, é tomado como sinal do comprometimento
daquela comunidade com os interesses de todo o povo e costuma ser objeto de atenção
e de comentários positivos, especialmente entre os mais jovens. Segundo alguns líderes,
as relações da Aldeia Velha com as outras aldeias já teriam sido caracterizadas por um
sentimento de inferioridade, hoje suplantado. Satisfeitos, declaram que, hoje, Aldeia
Velha conquistou o “respeito” das outras aldeias, que puderam, assim, ver que eles
também "conhecem a cultura".
17 O investimento dos líderes mais jovens, que assumiram a tarefa de “desenvolver a
cultura” na aldeia, faz parte, portanto, de um esforço pela plena inserção da Aldeia
Velha no território Pataxó e de superação daquele momento anterior em que a aldeia
era, como eles dizem, "pouco divulgada". Isso mostra que o engajamento no movimento
de fortalecimento cultural e a nova conformação de uma cultura pataxó
constantemente reformulada se têm em vista o incremento da identidade “para fora”,
respondem, também, à política vivida “para dentro”, entre as aldeias. A questão do
reconhecimento pode, assim, no caso da Aldeia Velha, e para efeito deste argumento,
ser deslocada de sua acepção marcadamente interétnica, para sublinharmos o seu
sentido intraétnico.
18 Ao analisar o contexto escolar indígena, Ana Cláudia Souza (2001: 107) indicou a
emergência de um novo tipo de lideranças nas aldeias pataxós. Ao lado dos líderes
tradicionais, mais velhos, estariam em ascensão lideranças jovens – em geral, entre 20 e
35 anos – que tiveram na escolarização um dos principais mecanismos pelos quais se
tornaram representantes do grupo. Souza destaca que os professores indígenas são os
principais integrantes dessa nova categoria de líderes . Podemos levar em conta, ainda,
outros segmentos jovens que partilham desta posição, como os estudantes
universitários indígenas e os “pesquisadores pataxós”, termo nativo que pode abranger
alguns dos jovens engajados em iniciativas de fortalecimento cultural que envolvam
estudos sobre a língua e a história pataxó e também a criação de um corpus de
narrativas, cantos e danças, artesanato, desenhos, jogos e celebrações, que vem sendo
registrado em livros e apostilas usados nas escolas. Um líder jovem pode ser
reconhecido como “pesquisador” mesmo sem nenhum vínculo formal com o universo
acadêmico ou de ensino em geral, embora seja comum que estes espaços sejam
ocupados por um mesmo agente. O “conhecimento da cultura” é tomado pelos jovens
pataxós como um estudo, objeto sobre o qual se deve falar com toda propriedade e que
os reveste de autoridade. Atualmente, várias iniciativas da parte dos professores
indígenas e dos pesquisadores pataxós veem reunindo, registrando e reformulando a
história e os conhecimentos tradicionais, tendo por base a memória das gerações mais
velhas, e, simultaneamente, abrindo-se para múltiplas referências de outros contextos
indígenas, próximos e distantes. O domínio do material assim produzido, escrito e
também audiovisual, é muito valorizado pelos jovens, com as vantagens e o ganho
simbólico associados a esta “cultura” assim revalorizada, ao conhecimento letrado e a
uma linguagem estética refinada e atraente. Este movimento vem configurando novos
espaços de protagonismo abertos aos agentes sociais indígenas, como a escola indígena,
os cursos superiores interculturais e os, assim chamados, grupos de cultura. Longe de
representar uma ruptura com aquele processo que já vinha consolidando a identidade
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
37
pataxó em torno da demanda pelo território, este movimento reedita, em uma nova
linguagem e com novos instrumentos, uma velha prática, atualizando uma tendência já
estabelecida em enfatizar elementos distintivos como o idioma e a produção artesanal.
Dada esta unidade de fundo, é interessante acompanharmos a definição de um campo
polifônico.
19 Os moradores da Aldeia Velha se familiarizaram com aquele discurso renovado de
afirmação cultural a partir da já referida criação do grupo de cultura, há quase dez anos
atrás, que mobilizou, sobretudo, lideranças jovens. Durante todo o meu trabalho de
campo eu estive hospedado na casa de Ângelo, sua esposa Arnã e seu cunhado Rodrigo.
Ângelo e Arnã são estudantes do ensino superior em cursos de licenciatura
intercultural para formação de professores indígenas, em duas instituições diferentes, a
UNEB (Universidade do Estado da Bahia) e o IFBA 4. Todos os três ensinam na escola
indígena da Aldeia Velha e acompanharam o desenvolvimento do grupo de cultura
desde que para ali se deslocaram. Ao se estabelecer em Aldeia Velha, Arnã esteve entre
as primeiras “lideranças da cultura”, unindo-se a outros jovens que tomaram a
iniciativa da criação do grupo. Ela trazia uma significativa experiência e um discurso
inovador gestados em Coroa Vermelha, onde havia atuado como liderança ligada à
Reserva da Jaqueira e, posteriormente, ao grupo Torotê, duas iniciativas indígenas de
reafirmação cultural. Ela se aproximou da Aldeia Velha quando vendia artesanato no
Arraial d'Ajuda e, por fim, se estabeleceu nesta aldeia a convite de Ipê, que a conhecia
por seu envolvimento no movimento indígena em Coroa Vermelha. Durante a minha
estadia em sua casa, ela estava desenvolvendo uma pesquisa solicitada em uma
disciplina do curso de licenciatura intercultural e escolhera como tema o artesanato
pataxó. Com uma visão muito atenta para as transformações estéticas que ela viu
acontecer e ajudou a construir, Arnã se interessou em procurar Ipê para utilizar, em
seu trabalho, as fotografias antigas de quando, ainda jovem, ele tinha uma loja de
artesanato em Coroa Vermelha. Ela pediu ao seu irmão Rodrigo, também professor
indígena - e reconhecido como habilidoso artesão - que desenhasse modelos de cocares
antigos, a partir das fotos. Rodrigo tem muitos desenhos das peças atuais e das pinturas
corporais pataxós, alguns da sua própria criação e outros das suas apostilas de
professor, que compõem uma parte daquele acervo que vem sendo construído,
coletivamente, pelos pesquisadores pataxós. Os dois irmãos observavam com interesse
as diferenças de estilo e material entre as peças de duas décadas atrás e as atuais. As
primeiras lhes pareciam desajeitadas e ambos reconheciam no processo de afirmação
cultural um trabalho, também, de refinamento técnico. Do outro lado, Ipê, quando o
visitei na noite daquele mesmo dia, me expressaria a sua posição sobre essas
transformações. Contente pelo pedido de Arnã, ele me disse que não comentou nada
com ela, manteve-se silencioso, mas sabia que ela viera buscar, ali, o "verdadeiro"
artesanato pataxó, mais “rústico” e “tradicional”. Ele parece se ressentir um pouco das
mudanças que estão ocorrendo, e diz que mesmo antes de haver um grupo dedicado ao
fortalecimento cultural, Aldeia Velha sempre teve cultura, que os índios dali tanto
tinham cultura, que retomaram aquela terra.
20 Manuela Carneiro da Cunha já chamou nossa atenção para o fato de que os povos
indígenas estão incorporando o conceito antropológico de cultura em seus próprios
vocabulários, transformando-o em um conceito nativo. Esta operação introduz a
“cultura”, reapropriada e reformulada (enfim, como "metadiscurso"), na lógica da
cultura (em termos antropológicos) enquanto universo de significado compartilhado
por uma coletividade: ordens discursivas diferentes que "contaminam" uma à outra
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
38
(Carneiro da Cunha 2009). O ligeiro desacordo entre os pontos de vista de Arnã e de Ipê
que, aparentemente, passou despercebido entre eles, aponta para a possibilidade de
que, entre os Pataxó, diferentes agentes possam reivindicar diferentes perspectivas
sobre a cultura. É possível, portanto, que a apropriação nativa do conceito de cultura
seja variada e desigual dentro do grupo. Em oposição à ideia de cultura como um
discurso especializado, Ipê nos propõe uma perspectiva mais ampliada sobre a cultura,
que envolve, destacadamente, a luta pela terra – dimensão fundamental da identidade
pataxó atual, uma identidade em movimento, em luta. Assim contrapostas estas
perspectivas parecem estranhas uma à outra, o que não ocorre, de fato. Assim como
Arnã reconhece e valoriza a luta pela terra como dimensão da cultura e esteve
pessoalmente envolvida em outras retomadas pataxós, também Ipê reconhece no
movimento de reafirmação cultural assumido pelos jovens uma iniciativa legítima com
a qual se dispõe a dialogar e na qual lhe interessa intervir construtivamente. Os dois
pontos de vista sobre a cultura são igualmente admissíveis, dentro de um campo em
definição, pelos diferentes agentes que os reivindicam. Ocorre que eles estão engajados,
prática e discursivamente, de modo diverso no trabalho coletivo de redefinição da
identidade social pataxó – bem como no campo político tal qual ele se desenha,
localmente, em Aldeia Velha. O que é importante captar é que a cultura pataxó não é
um campo de consenso, mas uma arena significativa (nos termos weberianos em que
Gabriel Cohn define a cultura), onde os agentes sociais “orientam-se por diretrizes que
lutam para fazer valer também para os demais” (Cohn 2006: 10). Parece que esta arena
significativa espelha, também, a arena política em que se definem novos espaços de
atuação, novos atores e novos discursos, com destaque, no caso Pataxó, para as
lideranças jovens escolarizadas que assumiram o discurso da “cultura”.
21 Como já foi assinalado, a mobilização política em torno da reconstituição territorial
sempre envolveu, entre os Pataxó, o esforço pela restituição do direito de definir a sua
identidade social em seus próprios termos. Atualmente, a luta pela reapropriação da
identidade indígena pataxó está se formatando em um discurso especializado,
garantido por um grupo no interior do corpo social Pataxó. Se do ponto de vista das
relações interétnicas este discurso enseja o reconhecimento do seu direito à
autodeterminação, também no interior do grupo social este mesmo discurso é capaz de
elevar certos agentes a espaços de protagonismo. De fato, o reconhecimento externo só
pode acontecer porque, no interior das aldeias pataxós, esses agentes, sob certas
condições, ocupam os novos espaços de mobilização e assumem o papel de lideranças
no âmbito da revalorização da cultura.
22 Em certo sentido subsiste uma dicotomia entre o pensamento das gerações mais velha e
mais nova. Ana Cláudia Souza (2001: 83) demonstrou isso a respeito da escola. Se para
os primeiros a escola é o lugar de aprender as coisas dos brancos para que os Pataxó
não sejam mais enganados (evocando, paradoxalmente, a figura do índio afastado do
conhecimento legítimo), para os últimos a escola é o lugar privilegiado do
fortalecimento da cultura indígena. Ambas as perspectivas apontam para a superação
das relações de subalternidade para com a sociedade envolvente (Souza 2001: 85) e,
neste sentido, há uma continuidade de fundo sob o aparente desencontro 5, que se
expressa, entre outras coisas, no mútuo reconhecimento e, sobretudo, no respeito dos
jovens por aqueles que, no dizer de Souza (2001: 51), sofreram para “viabilizar o
presente”. De modo semelhante, a opção dos jovens pela diferença cultural como chave
interpretativa para explicar as relações entre índios e não índios, em um nível mais
simétrico, oferece um ganho interessante ao escapar da leitura hierarquizada que
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
39
fundamentou a expropriação simbólica da identidade do grupo, por longo tempo
representada negativamente (não civilizados, desordeiros, inautênticos...). Como
também lembra Bourdieu (1996: 62), as palavras só podem agir quando têm a seu favor
a ordem das coisas. Longe de opor estas duas ordens, o teórico nos apresenta
instrumentos analíticos para entendermos o quanto uma deve à outra, uma vez que a
subversão da ordem social se faz acompanhar por uma subversão da ordem simbólica;
subversão cognitiva ou conversão da visão de mundo que tanto é condição como
domina o longo desenvolvimento do reordenamento social que propõe. Esta operação
ao nível das categorias só pode se sustentar no seio do histórico recente de
transformações sociais. Sugiro que tomemos esta continuidade entre os distintos
engajamentos de duas gerações na superação de um status negativo como fases
diferentes de um longo trabalho de reapropriação de uma identidade social da qual os
Pataxó foram, historicamente, expropriados6.
23 Reservando aos Pataxó a invisibilidade, uma suposta indiferenciação cultural e o
racismo, o consenso regional se viu questionado pela contundente autoafirmação étnica
daquele povo. Assim, o discurso crítico elaborado pelos Pataxó em denúncia a uma
ordem desigual promove uma ruptura com as estruturas simbólicas de dominação há
muito incorporadas nos agentes sociais – índios e não índios. Este discurso indígena que
denuncia a inconsistência de um senso comum opressor e, ao mesmo tempo, enuncia
uma nova ordem é de um tipo específico. Nos termos de Bourdieu, o discurso
performativo é aquele que pretende instituir fronteiras entre os grupos sociais,
transportando a representação para a realidade, ou antes, surpreendendo-a na
realidade das disputas pela legitimidade da descrição/prescrição do mundo social. O
discurso performativo explora, precisamente, o poder estruturante das palavras, sua
capacidade de agir sobre o mundo social ao agir sobre a representação que os agentes
imprimem ao mundo. Ele partilha da eficácia própria dos ritos de passagem – ou ritos
de instituição (Bourdieu 1996: 97) – , no sentido em que consagra um limite e,
consequentemente, a identidade social assim delimitada. Entendo que hoje, entre os
Pataxó, a “cultura” como termo nativo, discurso nativo sobre a diferença, se afigura
como discurso performativo no sentido de que não apenas indica o pertencimento a
uma identidade, mas ajuda a constituí-la, objetivamente, em meio a uma luta de
classificações7; inclusive mobilizando diversos atores para sua realização (i.,e.: para uma
mais plena correspondência entre o discurso e as características objetivas do grupo).
Em certo sentido, a reflexividade do conceito de cultura já nos situa neste campo em
que a definição das fronteiras está em jogo. Como aponta Carneiro da Cunha (2009),
quando falamos em cultura – esta ou outra –, postulamos estar imbuídos de uma, e mais
que isso, nos situamos discursivamente em um contexto interétnico, lugar, portanto, da
instituição da diferença.
24 Nos últimos anos os Pataxó vêm empreendendo a subversão material e simbólica das
estruturas de opressão às quais foram submetidos historicamente. Em diferentes fases
desta sua história recente, a familiaridade ou domínio de um discurso sobre a diferença
– e a exitosa assunção de uma prática correspondente – tomou um caráter decisivo nas
trajetórias de agentes sociais politicamente destacados. Acredito que estas trajetórias
iluminam e podem ser, reciprocamente, esclarecidas por uma visão destes novos
discursos em elaboração no interior de uma arena significativa pataxó, espaço de
diálogo entre agentes sociais indígenas diferentemente engajados na criação desta nova
ordem de sentido, cada qual com o seu desempenho discursivo particular, acionado em
proveito do projeto coletivo e de seus projetos individuais enquanto lideranças.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
40
Acolhendo esta arena significativa como definição, desde fora, da cultura pataxó,
podemos concluir que os discursos nativos sobre a cultura, em seu interior, guardam
com esta arena uma relação metadiscursiva (como sugeriu Carneiro da Cunha 2009);
dirigem-se a ela sendo, a um só tempo, expressão de sua realização, sua dinâmica
própria. É a partir deste quadro complexo que se destacam, hoje, entre os Pataxó,
atores de um novo tipo de protagonismo, engajados em uma reformulação cada vez
mais elaborada da cultura.
BIBLIOGRAFIA
Bierbaum, Bernhard. 2008. “Fazer a Flecha chegar ao céu novamente: Os Pataxó do Extremo Sul
da Bahia.” Pp.454-463 in Agostinho da Silva, Pedro. (et al). Tradições étnicas entre os Pataxó no Monte
Pascoal: Subsídios para uma educação diferenciada e práticas sustentáveis. Vitória da Conquista, BA:
Neccsos-Edições UESB. (disponível em CD)
Bourdieu, Pierre. 1996. A Economia das Trocas Linguísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: Edusp.
Carneiro da Cunha, Manuela. 2009. “Cultura” e cultura: conhecimentos tradicionais e direitos
intelectuais.” Pp. 311-373 in: _____. Cultura com Aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify.
Carvalho, Maria Rosário Gonçalves de. 1977. Os Pataxó de Barra Velha: seu subsistema econômico.
Salvador: Dissertação de Mestrado apresentada ao PPGCS/UFBA
Cohn, Gabriel. 2006. “O Sentido da Ciência.” Pp. 7-12 in Weber, Max. A “Objetividade” do
Conhecimento nas Ciências Sociais. São Paulo: Ática.
Grunewald, Rodrigo. 1999. 'Os Índios do Descobrimento': Tradição e Turismo. Rio de Janeiro: Tese de
Doutorado apresentada ao PPGAS/MN.
Grossi, Gabriele. 2004. Ici nous sommes tous parents: Les Pataxó de Barra Velha, Bahia, Brésil. Tese de
Doutorado apresentada à EHESS.
Oliveira, João Pacheco de. 1998. “Uma Etnologia dos “Índios Misturados”? Situação Colonial,
Territorialização e Fluxos Culturais.” Revista Mana 4 (1): 47-77. (http://www.scielo.br/ scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0104-93131998000100003)
Rego, André. 2012. “Uma aldeia diferenciada”: conflitos e sua administração em Coroa Vermelha/BA.
Brasília: Tese de Doutorado apresentada ao PPGS/UNB.
Sampaio, José Augusto Laranjeiras. 2010. “Sob o Signo da Cruz” Relatório Circunstanciado de
Identificação e Delimitação da Terra Indígena Coroa Vermelha.” Cadernos do LEME 2(1): 95-17.
(http://www.leme.ufcg.edu.br/cadernosdoleme/index.php/ e-leme/article/view/21/19)
_____. 2000. “Pataxó: Retomadas na rota do quinto centenário.” Pp.715-721 in: Ricardo, Carlos
Alberto. Povos Indígenas do Brasil: 1996-2000. São Paulo: Instituto Socioambiental.
Souza, Ana Cláudia Gomes de. 2001. Escola e Reafirmação Étnica: O Caso dos Pataxó de Barra Velha.
Salvador: Dissertação de Mestrado apresentada ao PPGCS/UFBA.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
41
NOTAS
1. Grande parte dos argumentos aqui apresentados foram recuperados do primeiro capítulo e da
segunda e sexta seções do segundo capítulo da minha monografia de conclusão do curso de
graduação em Ciências Sociais, com concentração em Antropologia na FFCH-UFBA, intitulada
“Saber Andar”: Refazendo o Território Pataxó em Aldeia Velha, aprovada em abril de 2013.
2. Nos termos de uma relação de reflexividade, seguindo a inspiração de Manuela Carneiro da
Cunha (2009: 311 - 373).
3. “Os índios Pataxos sem terras se reuniram junto com o cacique, ipê. Discutiram um assunto
muito sério, e tomaram medidas. O que poderia fazer para conquistar a terra. Foi discutir
reuniões a um ano atrás o cacique ipê, fez pesquiza e descobriu um área de terra tradicional, que
já era de índios a muitos anos. No dia seguinte eles ocuparam esta área por nome Aldeia Velha, é
tanta verdade que Aldeia Velha que os índios quando ocuparam estão encontrando coisas
tradicional nesta área. [...]” [sic] (25 de maio de 1993). No final deste trecho, “coisas tradicional” é
uma referência aos vestígios arqueológicos ali encontrados.
4. Instituto Federal da Bahia, cuja unidade de Porto Seguro oferece o curso de Licenciatura
Intercultural Indígena. Pode ser interessante citarmos, aqui, o site da instituição, que informa que
a proposta do curso é a formação de professores indígenas em licenciatura plena, “com enfoque
intercultural, para lecionar nas escolas indígenas localizadas em aldeias e reservas indígenas em
consonância com a realidade social e cultural específica de cada povo e segundo a legislação
nacional que trata da educação escolar indígena”.
5. As atitudes em relação à escrita são bastante expressivas. Os Pataxó valorizam o letramento
como instrumento para superação da desigualdade em relação ao “branco”. Afastados da escrita,
ou do “papel”, reconheciam-se, no passado recente, afastados do poder e dos direitos. Hoje, os
jovens assumem a “cultura” como um conhecimento cultivado e cumulativo, trazido para o
domínio da escrita. Chamar a escrita em favor da cultura significa, por um lado, apropriar-se de
uma poderosa tecnologia do mundo dos brancos e, por outro, reapropriar-se do conhecimento
tradicional, historicamente desvalorizado.
6. Duas gerações, grosso modo. Muito provavelmente este quadro pode ser complexificado e
poderão ser definidos não dois, mas vários modos distintos de engajamento político que sejam
geracionalmente marcados, especialmente no cruzamento com outras determinações, como o
gênero, o pertencimento a certos grupos familiares ou o próprio letramento - ao qual Souza dá
um interessante destaque.
7. Bourdieu (1996: 81) nos alerta para "a contribuição que a luta de classificações, dimensão de
toda luta de classes, traz à constituição das classes” e outros grupos sociais mobilizados. Para ele,
cumpre ao cientista social restituir "a parte que cabe às palavras na construção das coisas
sociais". Gabriele Grossi (2004, p.65) já tratou da luta pela afirmação da identidade étnica Pataxó
como um caso particular das lutas de classificação nos termos de Bourdieu. Grossi propõe um
exercício interessante, ao demonstrar que os Pataxó reconhecem fases diferentes de suas
relações com os brancos em um processo de disputa pelo poder de nomear os grupos sociais:
antes eles eram chamados “tapuios”, e assim referidos como selvagens; depois como “caboclos”, e
deslegitimados enquanto um povo nativo; mas, hoje, declaram-se e são reconhecidos como
“índios”, revertendo um quadro de alienação simbólica.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
42
RESUMOS
Discuto, partindo dos dados de uma pesquisa etnográfica realizada em Aldeia Velha, como o
processo de reconstituição territorial pataxó vem abrindo novos espaços de atuação política aos
agentes sociais indígenas, e entrevejo algumas implicações desta pluralidade de modos de
atuação surpreendidas no interior de um trabalho coletivo de reestruturação simbólica.
In this article, I try to demonstrate how the growing mobilization of the Pataxó Indians to
recuperate their territorial rights, as well as the emergence and consolidation of new villages,
created new spaces of political protagonism, and how some of the indigenous agents succeeded
in making use of these spaces in an innovative and creative way. The article focuses on the
context of the Pataxó village of Aldeia Velha, where I carried out fieldwork in 2011.
ÍNDICE
Palavras-chave: Pataxó, protagonismo indígena, afirmação cultural
Keywords: Pataxó Indians, indigenous protagonism, cultural affirmation
AUTOR
HUGO PRUDENTE DA SILVA PEDREIRA
UFBA, BA, Brasil
Graduado em Ciências Sociais, com concentração em Antropologia pela FFCH/UFBA.
hugo_prudente@hotmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
43
A história está no “drama”: jovens
Xokó e produção de socialidade com
linguagem das artes
The history is in the "drama": young Xoko Indians and the production of
sociality with the languages of art
Natelson Oliveira de Souza
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2013-04-30
Aceito em: 2013-09-19
Introdução
1 Inicio este texto com um breve panorama. Os Xokó são um pequeno povo indígena
ribeirinho situado entre os estados de Sergipe e Alagoas, Nordeste do Brasil. Ocupam
uma ilha e uma porção de terras continentais no baixo rio São Francisco, margem
direita a jusante do rio, no município de Porto da Folha, estado de Sergipe. Trata-se de
um povo cujo território e ascendência reporta-nos às missões jesuíticas e capuchinhas
estabelecidas no final do século XVII, e encarregadas de efetuar conversões
relativamente unilaterais dos sistemas de crenças das populações nativas americanas,
i.e., convertê-los ao cristianismo, assim como integrá-los, num momento posterior, ao
sistema social e laboral da nova colônia portuguesa. Não realizo, aqui, uma descrição
mais densa dessa história, apenas recorro a este e outros aspectos por necessidade de
fornecer ao leitor breves contextualizações.
2 A história dos índios Xokó é demarcada por conflitos violentos por terras e territórios,
infortúnios bastante comuns a praticamente todas as populações nativas americanas.
Trata-se de uma característica muito persistente ainda na contemporaneidade, uma vez
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
44
que diversas populações culturais e étnicas, tais como quilombolas, ribeirinhos,
pescadores, camponeses, sem terras, entre outras, continuam sendo, no mundo rural,
alvos destacados de pressões do capital. Isso ocorre, muitas vezes, à margem da
constituição brasileira e dos tratados internacionais em vigor. Casos contemporâneos
amplamente conhecidos são aqueles que envolvem os Guarani-Kaiowa e o agronegócio, e
a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, marcada por lacunas procedimentais
estatais com riscos à segurança biológica, cultural e territorial de grandes porções da
Amazônia brasileira, como o rico Parque Indígena do Xingu.
3 Recentes propostas polêmicas de portarias e emendas constitucionais voltadas às
Terras Indígenas têm tensionado gravemente os povos atingidos. Essas medidas estatais
contemporâneas, que têm sido repelidas, sistematicamente, pelos povos indígenas
brasileiros – provocando preocupantes agravamentos e solidariedade relativamente
ampla da sociedade civil organizada em redes virtuais e físicas –, podem ser conhecidas
através do recente pronunciamento oficial de Sônia Guajajara, em Doha, no Qatar 1, no
âmbito da conferência da ONU sobre o clima. Menciono este pronunciamento porque
ele realça, de modo bastante objetivo, um tipo de história visivelmente pautado em
conflitos de visões de desenvolvimento cultural e sócio-econômico, no qual as
populações tradicionais e os povos indígenas se encontram em notória desvantagem.
4 Pelo foco da minha pesquisa, cujo presente artigo é um dos seus desdobramentos,
presto atenção aos efeitos deste contexto também entre os índios mais jovens, uma vez
que eles, por um lado, quando não nascem e crescem já experimentando diretamente as
situações de violência, física ou simbólica, criadas por colonos e determinadas
“políticas públicas”, por outro, conhecem, desde cedo, as narrativas dos mais
experientes sobre suas histórias de vida recorrentemente marcadas por graves
violações de direitos fundamentais decorrentes da relação assimétrica que têm
estabelecido com o Estado e a sociedade nacional. Exemplos amplamente conhecidos
desta assimetria são os difundidos e arraigados predicativos que veiculam uma imagem
negativa do índio, ora como um ser pertencente genuinamente ao passado
(essencialismos), ora “atrasado” convenientemente (instrumentalismos) em relação ao
modelo único de desenvolvimento e modernização.
5 Os índios mais jovens não estão alheios a estas questões e, cada vez mais, constatamos o
aprofundamento das suas articulações, em âmbito nacional, em torno da construção de
uma política indígena efetiva que contemple, também, o protagonismo das juventudes
nos enfrentamentos dos problemas que afligem seus respectivos povos. O mais recente
discurso oficial-coletivo é a Carta da Juventude Indígena à Sociedade Brasileira 2.
Podemos mencionar, ainda, o recente encontro de um grupo de jovens lideranças com o
atual presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, cujo objetivo principal teria sido a
busca de uma maior celeridade ao julgamento das condicionantes oriundas da
PET-33883.
6 No caso dos jovens Xokó contemporâneos ao meu estudo4, eles são marcados
duplamente pelas situações acima descritas, pois tanto vivenciaram, quando crianças,
parte do tempo de violência decorrente do longo litígio em torno da terra com a então
poderosa família Britto5, quanto cresceram, já num momento que denominam tempo de
paz, ouvindo os mais velhos referirem a esta história, seja em ambiente familiar, nas
escolas indígenas ou nas constantes reuniões coletivas, quanto em âmbitos mais amplos
do movimento interindígena brasileiro. Esta exposição contínua aos fatos violentos
vividos e/ou memorados permitiu que os jovens não apenas experimentassem um
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
45
sentimento particular6, como também construíssem releituras e práticas estratégicas a
fim de continuar atribuindo, eles mesmos, sentido à história vivida e/ou transmitida.
Isso permitiu um engajamento permanente nas tentativas de superação das condições
adversas junto aos seus parentes mais experientes.
7 Atento a estes aspectos de suas vidas, busco analisar uma faceta deste engajamento a
partir da perspectiva e ações locais do jovem fomentador de uma linguagem cênica que
busca contar a história recente da luta indígena: Anísio Xokó. Tendo em vista que esta
linguagem se apóia no recurso da memória, descreverei como alguns jovens narram,
através de residuais recordações de infância, alguns momentos considerados tensos
entre índios e pistoleiros da família supracitada na década de 1980, sem perder de vista,
sobretudo, o sentimento que vem à tona entre eles, caracterizado por uma patente
condolência em relação aos constrangimentos sofridos pelos seus pais e os mais antigos
índios Xokó nesta disputa. A partir destes aspectos, analiso como surge a apropriação
da linguagem das artes já em um contexto posterior e mais pacífico, e como esta passa a
funcionar – ainda que marginalmente – como estratégia agregadora de sociabilidades
deste povo, sobretudo da juventude local na re-produção da memória em face da
história apreendida; e frente àqueles que constantemente os procuram, demonstrando
interesse em saber mais sobre as suas vidas, a exemplo dos estudantes das escolas e
faculdades regionais e dos sucessivos pesquisadores acadêmicos que, na linguagem
teatral, são criativamente incorporados como personagens interpretados pelos
próprios indígenas.
8 Por fim, analiso como o exercício dessas linguagens é por eles impulsionado a fim de
objetivar um sentimento de ser indígena mediante a relação com as experiências de
vida entre si e no âmbito da interetnicidade, i.e., na relação histórica e mutuamente
representacional experimentada no contato com outras populações indígenas e mesmo
com os não índios, cujo contato é mais imediato na região em que vivem. Cabe frisar
que a necessidade desta objetivação possui um sentido específico voltado à re-produção
e transformação contínuas de um estado de bem-estar social, tomado, aqui, como
dinâmica da socialidade7 do grupo, e de sua relação com os não índios. Dito de outra
maneira, o exercício busca a manutenção da mutualidade do ser 8 tanto quanto for
possível, através de um processo de identificação e territorialização incessante erigido
na própria vida diária; assim como nos espaços além de suas fronteiras, visando a
modificação de nuances históricas indesejáveis, construídas ao longo do contato com os
não índios.
A tensão na memória
9 O discurso dos mais experientes, que remonta à trajetória histórica dos índios Xokó
para atribuir sentido à vida diária da terra indígena, é percebido como uma referência
fundamental para os jovens no que tange à construção de uma disposição afetiva
específica em torno do que se entende por “identidade Xokó”, e do que eles são e/ou
deveriam ser no decorrer do tempo, enquanto “continuístas” de um território muito
recentemente conquistado. Nesse sentido, pode-se afirmar, em alguma medida, que
esta disposição9 está relacionada, em parte, a duas dimensões: i) como já dito, com as
histórias contadas pelos pais e demais parentes que protagonizaram diretamente o
conflito; e ii) com fragmentos de “memórias” da infância da parte dos próprios jovens
adultos com os quais dialoguei, qual seja, com aqueles que em meu estudo tinham cerca
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
46
de trinta anos. Cabe destacar, então, que uma parcela dos jovens ouviu e vivenciou a
luta, ao passo que outros apenas dela ouviram falar, do que resulta que há entre eles
percepções bastante diferenciadas no presente contexto de pesquisa.
10 Ao ouvir, interessado, suas histórias de vida, meu objetivo parecia-lhes algo um tanto
estimulante, pois não era comum pesquisadores buscarem o passado justamente em
suas falas, mas naquelas dos mais vividos. Alguns ficavam surpresos e hesitantes
quando eu solicitava conversar sobre as suas histórias. Joana 10, que estava prestes a
fazer o vestibular, por exemplo, expressou desconforto diante de meu incomum pedido.
Dominada pela timidez, recuou, não obstante tenha se disposto a falar em outra
ocasião: “eu não sou muito boa nisso, meu avô [o pajé] e minha avó sabem contar
melhor”. De um modo geral, as memórias que recolhi remetem-nos ao contexto de
privações em que viviam os pais e parentes destes jovens e, simultaneamente, às
vantagens que os fazendeiros insensíveis a tais condições buscavam extrair-lhes,
mesmo que eles estivessem enfrentando as piores condições de sobrevivência. Este
contexto de subalternidade é algo marcante na lembrança daqueles que conversaram
comigo. O cacique Bá costumava me dizer: “hoje, todos nós vivemos em um paraíso.
Com todos os problemas que ainda enfrentamos, nem se compara. E é por isso que
temos que lutar para não perder nunca mais nenhuma destas conquistas”.
11 Paulinho, neto do meu anfitrião, pajé Raimundo, afirma que jamais vivenciou nada
parecido com o que lhe diziam, e que a atual situação da aldeia representa, de certo
modo, uma dívida de todos para com os anciãos. No conjunto de suas memórias, o que
mais ficou marcado para ele foi o injusto sistema de relações econômicas que prevalecia
na produção de alimentos da fazenda, na época anterior aos atos organizados de
resistência indígena para recuperação da Ilha. Este período é caracterizado como um
tempo de sofrimento coletivo bastante acentuado, cujas condições materiais de
existência eram extremamente precárias. Seus parentes ainda viviam como meeiros da
família Britto. Tudo o que era produzido pelos índios Xokó em suas terras, embora na
posse da família Britto, era dividido, obrigatoriamente, de acordo com o sistema de
meia11, mediante o qual os usurpadores da terra retinham, levando em consideração,
também, a qualidade da produção, entre metade a dois terços da colheita de uma
família. O restante, na maioria das vezes, não era suficiente para atender a família,
relatou-me. Paulinho encara este fato como um ato paradigmático das injustiças que
acometiam seus parentes mais experientes, sem que houvesse qualquer assistência do
Estado para impedir que isso continuasse a acontecer. Isso, dizia-me, causava-lhe
revolta, sentimento central que o levou, assim como outros Xokó mais jovens, a ter
mais comprometimento com a luta, a indianidade e a conquista territorial dos Xokó e
do movimento indígena de um modo mais amplo.
12 Numa conversa com Anísio, criador do “Drama”, ele me relatou uma tensa recordação
do tempo de criança, quando lhe era permitido, na ocasião em que seu povo enfrentava
proibições de entrada e utilização de recursos naturais da área contígua à Ilha de São
Pedro12, acompanhar o pai para coletar fechos de madeira na Caiçara 13, parcela da terra
indígena ainda sob a posse dos Britto e na qual mantinham a criação de seu gado sob
forte vigilância armada:
[…] a gente era um povo pobre, não existia aposentadoria … eu não sei por
que … E a gente vivia da panela, da cerâmica … minha mãe, meu pai … até pra
gente sobreviver às custas da cerâmica era um pouco difícil porque o barro
apropriado pra construção era na Caiçara, e pra isso tinha que ir buscar lá …
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
47
não podíamos ir por conta do fazendeiro … muitos jagunços, pistoleiros …
mas ainda lembro quando eu ia buscar lenha com meu pai … a terra, os
fazendeiros dividiu por muitas cancelas … sabe o que é cancela? […] quando a
gente vinha e ia daqui pra lá, passar sem peso dava pra abrir a cancela e
fechar, mas de lá pra cá, vinha com peso, não tinha condições de fechar a
cancela porque era muito alta … aí meu pai … eu lembro, eu era pequeno …
lembro quando ele passava pela cancela, ele mandava eu ficar com uma certa
distância já no bote … pra gente atravessar … a gente atravessava o canal de
bote. Atravessava e ainda atravessa … ele empurrava a cancela pra longe que
era pra dar tempo de chegar no rio, que a cancela ia lá, voltava e batia … se
tivesse pistoleiro por perto, numa certa distância … chamava atenção … E aí
ele com fecho de lenha muito grande nas costas saía correndo, pegava a
canoa … já jogava o fecho, jogava o bote pra fora, quando eles vinham
aparecer na beirada do canal, a gente já vinha no meio do canal pra cá e
pronto […]
13 Apesar dessa participação perigosa de Anísio nas idas e vindas pelas matas contíguas,
vale registrar que a necessidade de vigilância dos Xokó entre si e os parciais
impedimentos de mobilidade concernentes aos menos experientes ocorriam
praticamente em todos os âmbitos da vida diária da Ilha. Conforme Bá relatou, por
qualquer mínimo descuido dos pais, jovens e crianças, uma vez desassistidos, poderiam
se afastar nas matas, para brincar ou tomar banho no lado crítico do rio, na estreita
margem localizada ao sul, entre a Ilha e a Caiçara. Tratava-se do local de maior
potencial de conflitos, onde poderiam ser alvos das más intenções dos homens a serviço
dos fazendeiros, visto que os confrontos mais imediatos ocorriam, sobretudo, com os
capangas a serviço dos Britto.
14 Não era muito raro, contaram-me, eles serem repreendidos pelos pais por conta desse
descuido. As brincadeiras que ocorriam entre eles eram restritas ao centro da Ilha, aos
olhos de todos. Certamente, isso afetava, sensivelmente, os mais jovens, pois muitos
deles, em particular as crianças, eram submetidas a uma forte tensão, cuja lógica, de
certa maneira, deveria soar um tanto incompreensível devido às suas tenras idades,
mas que seria inevitavelmente desvendada algum tempo depois, no contexto em que o
litígio já estava consumado. Esta história passou a servir como um vetor fundamental
para a construção de uma nova socialidade Xokó, assim como serviu de suporte para a
mobilização coletiva em torno das posteriores políticas locais de identidade, centradas
nas novas conquistas de políticas públicas de Estado direcionadas ao desenvolvimento
autônomo dos povos indígenas.
15 Na perspectiva dos jovens adultos que vivenciaram parte do processo, a compreensão,
ainda que tardia, da lógica do que enganosamente lhes parecia ilógico nas restrições de
mobilidade promovidas pelos pais e demais parentes, nos tempos em que eram
crianças, certamente produziu efeitos consideráveis sobre suas identidades já
“amadurecidas” na rotina segura da aldeia. Um destes efeitos certamente se refere aos
possíveis condicionamentos morais (considerados relativos) que viriam a atingir, em
alguma medida, as suas dinâmicas cotidianas de agencialidades. Entre essas dinâmicas
destaca-se a elaboração de uma reconstituição cênica destas memórias, conforme
analisarei num âmbito bem particular deste artigo, qual seja, nas práticas norteadas/
norteadoras pelas/das linguagens específicas das artes como suporte para uma
transmissão desta história e do estado de indianidade.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
48
A Linguagem das artes
16 Como não descrevi, anteriormente, o exato contexto histórico no qual se desenvolve o
enredo teatral, cabe, aqui, um brevíssimo panorama14. A peça remonta à última luta dos
“caboclos da Caiçara” (como eram antes conhecidos) pela recuperação das terras da
Ilha e Caiçara, antes em posse dos Britto. Esta luta, em uma perspectiva historiográfica,
pode ser dividida em dois ciclos de eventos. O primeiro ciclo se inicia em setembro de
1978, quando os caboclos retomam a Ilha de São Pedro, desencadeando um longo litígio,
na justiça, contra os Britto. Os índios são expulsos e um ano depois, diante da
morosidade do processo, retornam novamente à Ilha, dispostos a não mais saírem.
Neste mesmo ano, Delvair Melatti, antropóloga da FUNAI, reconhece a ascendência
indígena dos Xokó, ao tempo que a documentação comprobatória é compilada pela
igreja de Propriá-SE e por acadêmicos de universidades, logrando êxito as
reivindicações dos caboclos em relação à Ilha. O segundo ciclo da luta refere-se ao
processo de disputa da Caiçara, território contíguo, que termina apenas em 1991 com a
homologação das duas porções de terras pelo governo Collor. Com o fechamento do
primeiro ciclo, em meados de 1984, eles se inserem parcialmente em um novo contexto
que denomino “rotinização da aldeia”, no qual passam a se organizar de modo a
estabelecer o novo cotidiano da Ilha, assim como da própria indianidade.
17 No período ‘entre-ciclos’, além do processo estrutural de reorganização da aldeia
indígena reservado aos primeiros anos, como a política representacional interna, a
nova economia local e o sistema simbólico e ritual propriamente indígena, uma das
primeiras atividades promotoras de sociabilidade15 entre eles, que perpassou a
dimensão étnica, foi a construção de uma peça teatral organizada por um indígena
chamado Rogério Xokó, no início dos anos noventa. A peça foi a Paixão de Cristo, com a
qual ele mobilizou a rede de parentes para que tudo ocorresse da melhor maneira
possível, proporcionando um novo espaço de convivência e, por suposto, uma maior
coesão social entre os membros da rede em torno de uma nova rotina, bastante
comemorativa e promissora para a vida mais tranquila que estava sendo restabelecida,
apesar das novas dificuldades que prenunciavam o segundo ciclo de lutas.
18 Cabe mencionar que a realização de peças sobre a Paixão de Cristo teria sido uma
prática mais ampla e recorrente naquela região16, devido ao forte catolicismo popular
presente na cultura sertaneja. A antropóloga norte-americana Jan Hoffman-French
desenvolveu pesquisas, na segunda metade da década de 1990, no Mocambo,
comunidade quilombola vizinha aos Xokó, e verificou a existência destas peças (plays).
No Mocambo, assim como na Ilha de São Pedro, as apresentações cênicas também
passaram a funcionar como instrumento de apoio ao próprio processo de
reconhecimento étnico. No entanto, há uma diferença fundamental entre as motivações
imediatas em torno do teatro encenado pelos jovens do Mocambo, no período
específico analisado por French, em 1997, e o contexto mais recente daquele encenado
pelos jovens Xokó, e aqui analisado.
19 Em 1997, os moradores do Mocambo estavam no auge do processo de reconhecimento
étnico perante o Estado, enquanto os índios Xokó já haviam sido reconhecidos anos
antes. No Mocambo, o teatro descrito por French17 vislumbrava um duplo processo de
auto e alter-reconhecimento identitários em torno de uma história fundacional que
pudesse justificar a reivindicação do lugar enquanto remanescente de quilombo. Como
todos os moradores não resguardavam uma memória coletiva segura baseada em uma
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
49
origem histórica compartilhada, o teatro descrito pela autora teria sido representado
com vistas a colaborar na modificação desta “deficiência”, convergindo as memórias
fragmentárias e difusas para o reconhecimento de uma origem comum baseada em
Antônio do Alto, tido como o negro fundador da comunidade do Mocambo.
20 No que concerne ao teatro Xokó, ele ocorre num período em que o processo de auto e
alter-reconhecimento oficial já está aparentemente consolidado, muito embora não
constitua uma realidade acabada, conforme analisarei mais detidamente nas conclusões
deste artigo. Os jovens Xokó lidam com o seu teatro de um modo que é possível
percebê-lo como em um estágio distinto ao dos vizinhos, ou seja, eles praticam a
performance não mais tão focada na obtenção e consolidação de reconhecimento
elementar [primeiro estágio], visto que essa etapa é considerada efetivada, o que não
era o caso do Mocambo em 1997. Os jovens Xokó, em verdade, encenam a peça muito
mais para manter e re-produzir o que já foi obtido e consolidado, focando, então, a
redução das assimetrias sociais que persistem entre eles, o Estado e os não índios. Este
processo está implicado em uma construção de socialidade perante um tipo ideal já
dado e não em vias de construção, como seria o caso do Mocambo em 1997.
Figura 1: livros artesanais.
21 Relatando este fato, i.e., a realização cênica da Paixão de Cristo, Anísio revela que, ao
assisti-la ainda criança, foi-lhe despertado, imediatamente, o interesse pela criação
artística, seja na escrita literária, seja na elaboração de roteiros para encenações
similares àquela promovida por Rogério. Ao prestigiar a apresentação, ele se inquietou
tentando desvendar o modus operandi da linguagem teatral, pensando em como era
possível a organização das falas, das pessoas em seus momentos de entrar em cena, do
enredo, das conexões entre as temáticas entrelaçadas e, sobretudo, lançando-se ao
desafio de pensar como ele teria feito se fosse o próprio diretor. Este foi o princípio das
posteriores atividades criativas sistemáticas de Anísio. Alguns anos depois, ele passou a
vasculhar livros velhos e a escrever, incessantemente, sobre temas diversos, guardando
e compilando tudo o que elaborou. Numa das nossas conversas, ele me mostrou alguns
de seus pequenos livros artesanais guardados entre um considerável volume de papéis
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
50
organizados em pastas plásticas. Tratam-se, basicamente, de histórias fictícias, contos e
poemas que contêm, em seus criativos títulos, de modo bastante sugestivo, alguns
elementos das históricas relações com os não índios, seja com as populações negras,
cuja relação de parentesco com os Xokó é bastante acentuada18, seja com os regionais
“brancos”, diante dos quais sempre enfrentaram questionáveis tabus.
22 Ao tempo em que ele me apresentava seus diferentes registros, eu aproveitava a sua
disposição para lançar-lhe algumas de minhas perguntas fundamentais de pesquisa, e
assim pudemos conversar de maneira espontânea. O modo como Anísio respondia a
algumas delas diferia, radicalmente, das formas mais protocolares de respostas que eu
conhecia acerca de indagações bastante conhecidas pelos indígenas. “Quando você diz
que é índio, o que isso significa para você, Anísio?” Perguntei-lhe. Ele manteve-se um
instante em silêncio e, considerando que eu parecia requerer uma resposta nem tanto
óbvia ou imediata, pensou por alguns segundos e sacou, entre os papéis, um de seus
cadernos de poemas que estava entre as pastas. Ficou a vasculhar por algum tempo e
escolheu uma poesia que ele havia escrito alguns dias antes, justamente pensando
nisso. E recitou:
O amor que lhe tenho
Não tem preço nem pressão
É brando como um beija-flor
Ativo e bravo como um leão
Arde no peito direito
E no esquerdo faz pulsar meu coração
O amor que lhe tenho
É profundo como o mar
Sem fim como o infinito
É luz sem razão pra se apagar
É um talento que não se explica
E nesse prazer que posso expressar
O amor que lhe tenho
Me faz enxergar o meu dever
Fazer dos direitos meu caminho
O qual ao teu lado devo percorrer
É do amor que lhe tenho
Que busco paz para viver
23 Logo após, ele passou a me explicar qual era o significado, o qual julgava ser apenas o
começo – muitas vezes negligenciado por quem pergunta – de uma resposta possível
para a minha indagação. Ele parecia sugerir que eu atentasse para o fato de que
qualquer resposta ou conclusão para esse tipo de questão não deveria ser satisfeita de
forma tão imediata, através de uma resposta sintética, objetiva e, sobretudo,
conclusiva: “é um talento que não se explica”. Isto é, parecia sugerir que qualquer
tentativa nesse sentido estaria implicada, necessariamente, nas complexas dinâmicas
de subjetividades, desejos e potencialidades contextuais de cada pessoa que se sente
indígena, sendo este o meio fundamental dela mesma identificar, em palavras, como se
percebe e é percebida entre aqueles que assim também se sentem em condições
compartilhadas de existência, não obstante com direitos e deveres, como ele aponta em
alguns dos versos:
Então, ser índio, hoje, é a razão da minha paz. É a minha vida, eu acho que
em lugar nenhum eu conseguiria viver […] a não ser aqui, porque aqui é onde
eu posso … onde eu tenho varias opções de trabalhar, de conseguir meu pão,
de ter a liberdade de expressar o que eu sou … eu costumo dizer e pensar …
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
51
que deveria ter nascido no tempo da batalha mesmo, porque … apesar do
mundo hoje está muito globalizado, tecnologia muito avançada, muitos
jovens já com a cabeça totalmente diferente … eu costumo dizer que deveria
ter nascido no tempo antigo. Por quê? Porque eu tenho orgulho de ser isso e
eu tenho consciência que eu morreria mas não negaria a minha identidade, o
meu prazer de ser … se hoje dissesse, se hoje fosse determinado que a gente
tinha que deixar tudo isso pra trás … toda a … televisão, todo objeto de … que
não é compatível com a nossa realidade de antes, e hoje é … se fosse pra
deixar tudo isso pra trás, pra cada um construir agora seu rancho no meio do
mato, e viver lá em comunidade, eu faria isso com todo prazer […]
24 Apesar do momento instigante provocado pela pergunta, retomei a conversa sobre as
atividades em torno da peça teatral já conhecida pela comunidade. Ele relatou que
Rogério Xokó não estabeleceu uma rotina para as apresentações da peça na aldeia, de
modo que não houve mais encenações. Sentindo que tinha capacidade para dar
continuidade às apresentações, Anísio, anos depois, tomou a iniciativa de articular com
alguns jovens parentes a possibilidade de construir uma nova peça que pudesse ter
longevidade maior, e, desta vez, o conteúdo seria a história recente da luta do povo
Xokó, de maneira que pudesse encená-la, anualmente, na semana em que eles
comemoram a conquista definitiva da terra, nove de setembro. Essa escolha fez-se,
sobretudo, em atenção ao contexto em que costumam receber diversos visitantes não
índios que vão até a Ilha querendo saber um pouco mais sobre suas vidas, sua história e
cultura étnica, um significado mais preciso para o que é ser indígena.
25 Os Xokó ressentem-se de um certo grau de repetição quando professores, estudantes,
pesquisadores, entre outros, procuram-lhes – em especial as lideranças – para conhecer
a história da luta, fenômeno que tem se tornado regular no decorrer dos anos, em
especial a partir do processo de “rotinização da aldeia”. Nesse sentido, cientes de que
esta constante procura é fundamental para o processo de desestigmatização 19 da
cultura indígena – sobretudo a deles, que tem marcante parentesco com populações
negras locais, que é alvo constantes de visões céticas e puristas de não índios em torno
da identidade –, passaram a articular, com o uso da criatividade, maneiras alternativas
para re-contar os fatos. O que pode ser traduzido como uma espécie de economia do
discurso historiográfico nativo em sua relação performática intermitente com os
vizinhos não índios. Conforme Anísio me explicou, diante desse contexto de interesse
sistemático dos não índios pela cultura Xokó, o “drama teatral” desempenharia o papel
estratégico de poupar, até certo ponto, as mais antigas lideranças nas épocas de
comemoração da retomada, quando recebem um grande número de não índios
interessados no que há ali de tão especial, como o próprio fato de serem índios. Ao me
explicar estas intenções, de certa maneira pragmáticas embora não reduzidas a isso 20,
Anísio sintetiza: “se querem saber a história, nós contamos ali [na peça teatral]”.
Solicitei, então, que me narrasse como funcionava a estrutura e a organização deste ato
cênico que eles denominam “O Drama”.
26 Trata-se de uma peça de teatro improvisada, i.e., feita com muito esforço coletivo da
parte dos jovens e sem dispor de qualquer tipo de apoio financeiro. O acesso ao material
cênico básico depende do que os participantes conseguem contribuir a partir do que já
possuem. A peça é realizada sempre que há contexto favorável nas datas
comemorativas, pois nem sempre Anísio obtém sucesso em mobilizar o interesse de um
número mínimo de jovens para a sua viabilização. Movimenta cerca de quarenta e cinco
jovens – estimativa de Anísio – o que representa, praticamente, a metade da juventude
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
52
da aldeia engajada na encenação da história recente da luta, na qual eles constroem
autonomamente os cenários, os textos, os improvisos e ensaios “secretos” 21 semanas
antes da data de apresentação, que costuma acontecer um dia antes da data principal
da festa. O motivo principal da antecipação é que o dia nove de setembro é
completamente reservado à apresentação performática do Toré22; à missa católica; ao
almoço coletivo que eles oferecem aos visitantes; aos discursos das lideranças; e às
longas menções honrosas políticas, tidas como as atividades principais da programação,
nas quais toda a comunidade se envolve, independente da faixa etária. Portanto, este
dia, como pude observar em trabalho de campo, já é, de fato, bastante sobrecarregado
de atividades.
Figura 2: Apresentação do Toré aos visitantes (9 de setembro de 2011).
27 No que tange à escolha do momento histórico chave da peça, cabe mencionar que o
conflito por terras entre índios Xokó e colonos é conhecido desde o início do século
XVII, quando o colonizador Pedro Gomes recebe uma doação de 30 léguas em quadra de
terras da coroa portuguesa, dando origem ao extenso Morgado de Porto da Folha. No
entanto, “O Drama” se concentra na história de conflitos violentos e litígios judiciais
que os Xokó tiveram, ao longo do século XX, com a última família que tomou posse
irregular do território indígena, favorecida pela Lei de Terras de 1850. Esta história
conflituosa se configura como fato definitivo para a mudança radical da vida dos índios
Xokó. É no seu decorrer que a transformação mais profunda ocorre, inclusive na
indianidade, quando se opera uma espécie de “viagem da volta”. É neste contexto que
os jovens atores destacam, cronologicamente, os diversos momentos difíceis aos quais
seus parentes estiveram submetidos e, sobretudo, a superação decisiva alcançada num
processo virtuoso de etnogênese indígena23, i.e., um radical processo de transformação
sociocultural.
28 A chegada de um pesquisador/historiador na terra indígena é o ponto de partida da
encenação. As suas perguntas a um Xokó ancião provocam a sua memória e a peça
recorre à conhecida técnica do flashback, com a qual os jovens reencenam o modo como
era organizada a vida nos tempos em que predominava subalternidade laboral e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
53
religiosa, para em seguida apresentarem como ocorre a tomada de consciência coletiva,
e, consequentemente, os desafios e violências daí decorrentes. Por fim, representam os
contextos nos quais ocorrem a conquista dos direitos e as transformações posteriores
no âmbito da “rotinização da aldeia” até o momento presente, qual seja, o início do
diálogo entre o interlocutor externo e o experiente índio numa “aldeia plenamente
consolidada”.
Figura 3: Crianças participando do Toré.
29 Numa revisão da literatura mais recente sobre os índios Xokó, pode-se perceber que O
Drama ainda é bastante marginal, e jamais foi comentado enquanto um acontecimento
que detém a sua devida importância na formação étnica dos jovens, se confrontada com
o tratamento dado a outros elementos das manifestações mais tradicionais e
emblemáticas da política de identidade local. Como são os casos do complexo ritual do
Ouricuri e o Toré, considerados, com razão, as principais “locomotivas” das identidades
dos povos indígenas do Nordeste e da continuidade histórica da cultura nativa.
Acontece que, nesta metáfora que aqui lanço mão, os “vagões” restantes trazem à tona,
também, importantes e diversos elementos – que poderiam ser percebidos apenas como
“supérfluos da identidade” – para a compreensão ainda mais ampla do modus operandi
da construção étnica e relacional de povos como os índios Xokó. E esta peça cênica
juvenil ainda persiste enquadrada como um exemplo patente destes elementos
aparentemente residuais e à espera de uma legitimação um tanto maior.
À guisa de conclusão: a produção da socialidade
30 A apropriação de uma linguagem das artes através da concepção de uma peça de teatro
que sirva como suporte para contar a história do povo Xokó, sobretudo aos não índios
que visitam a Ilha com seus diversos interesses, certamente possui efeitos bem mais
complexos do que aquele proporcionado pelo objetivo pragmático mais imediato de
Anísio: poupar as lideranças mais idosas da tarefa intensa e cíclica de contar e recontar
a história para os inúmeros pesquisadores interessados. Pode-se supor que esta
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
54
apropriação é um desmembramento autônomo, entre outros, da matriz relacional que
constitui o modo de vida cotidiano dos índios Xokó, i.e., um suporte performativo,
como tantos outros, a exemplo do Toré, no qual eles põem em evidência o desejo de um
modelo relativamente estável de relação entre si e os não índios, cada parte com as suas
características, de modo que os diálogos e práticas (re)produzam ao máximo possível
um sentido compartilhado, uma mutualidade afetiva. O objetivo central desse desejo
seria proporcionar, por um lado, a coesão entre os parentes Xokó e, por outro, o
respeito mútuo entre eles e os visitantes não índios através da construção e
manutenção de uma intersubjetividade incessante. Este anseio constitui parte
fundamental do que proporciona o estado de socialidade dos primeiros.
31 Nas propostas analíticas centradas neste conceito, pode-se compreender que a
abordagem do conceito de socialidade surgiu a partir de um contexto de crítica à ideia
hegemônica de sociedade até então pactuada nas ciências humanas, estabelecida
mediante uma série de dicotomias, tais como parte/todo, indivíduo/coletivo, biológico/
cultural entre outros pares antinômicos, de tal maneira que o foco na inter-relação
imanente a estes pares permaneceu, até certo ponto, prejudicado. Nesse sentido,
aqueles que passam a recorrer ao conceito de socialidade como instrumento de análise
inserem-se numa vertente de pensamento que, basicamente, busca rejeitar a ênfase
hierárquica da investigação em uma das partes dos esquemas opositivos (binarismo),
para focar, então, nos fenômenos da relação como dimensão propriamente
(des-)constitutiva das pessoas e dos diversos (des-) vínculos entre elas [a sociedade]. Ou
seja, busca-se foco privilegiado para os processos relacionais, os quais proporcionam
sentido e, sobretudo, dinâmica à vida e ao cotidiano – tanto em seus aspectos objetivos
quanto subjetivos e intersubjetivos, e que se conectam um ao outro de modo a
compreendermos que a pessoa e o mundo social não são dados a priori, mas
mutuamente construídos e transformados de modo incessante, a partir dos processos
de vivência que ocorrem nas próprias contingências da vida diária.
32 Como podemos compreender, então, no âmbito destas abordagens, o uso da linguagem
das artes pelos jovens Xokó? Em quais processos sociais significativos as suas agências e
criações artísticas estão implicadas, tendo em vista as suas vivências históricas com a
própria rede de parentes indígenas e com os não índios com os quais mantêm relações
cotidianas? Uma das respostas possíveis é que o uso de uma peça de teatro, no contexto
descrito neste artigo, funciona como um suporte que apresenta, sucintamente e
seletivamente, o acúmulo de relações marcantes que os índios Xokó historicamente
estabeleceram entre eles mesmos e com “os outros”, i.e., com os não índios. A
apresentação em si (sua forma e conteúdo) não seria suficiente para compreendermos
seus significados e motivações; seria preciso pensarmos a quais fenômenos ela se
conecta. Para isso eu formulei duas perguntas que me conduzem a alguns fenômenos
distintos e, ao mesmo tempo, complementares: i) ‘para que’ eles protagonizam? ii) ‘com
quem’ eles se conectam para o desenvolvimento da performance artística?
33 No primeiro caso [para que], podemos pensar que suas motivações e protagonismo se
voltam à própria constituição local da política de identidade, de territorialização e de
parentesco indígena, ou seja, ao self associável a um grupo de afins e um lugar, tendo
em vista o acúmulo de histórias e memórias adquirido especialmente com os mais
experientes, os quais cumprem, por sua vez, um amplo papel pedagógico construído
nos roteiros de vida social estabelecidos desde a “rotinização da aldeia”, assim como no
próprio cotidiano. No segundo caso [com quem], podemos pensar, por um lado, que eles
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
55
visam produzir relação positiva (socialidade) entre eles mesmos enquanto parentes, a
fim de garantir a permanente territorialização assim como a própria indianidade, dois
elementos que não são vistos entre os Xokó como realidades acabadas. E, por outro
lado, visam constituir um tipo de “socialidade interétnica” com os vizinhos não índios,
cujas relações demonstram, claramente, serem inexoravelmente assimétricas 24, a fim de
construírem, mutuamente, uma rede social que esteja o máximo possível de acordo com
os seus anseios. Ainda que regidos por diferentes gramáticas sociais, buscam um modo
de relação que seja capaz de romper com as persistentes rotas de colisão, ou ao menos
diminuir os seus efeitos mais deletérios.
34 Numa possível leitura perspectivista, se bem a compreendo, estas situações suscitam a
ideia de que a realidade não é um dado25, de modo que ela sempre tende a ser vista sob
dois ou mais pontos de vista, tal como é considerada pela teoria relativista. A realidade
seria, então, o tipo de relação que se acentua/prevalece – não necessariamente objetivo,
ou sintético de uma relação dialética – na dinâmica do encontro destes pontos de
vista26. Por um lado, se os visitantes se dispõem a viajar até a Ilha de São Pedro para
assistir ao Drama, é no sentido claro de i) buscar estabelecer um tipo de relação, de
conhecer a história local onde ela mesma se expressa através das pessoas; ii) dispor as
suas referências práticas e teóricas anteriores à prova para saber em que podem se
transformar essas experiências. Por outro lado, se os Xokó elaboram uma laboriosa
peça de teatro visando estes outros é, também, no sentido de i) transmitir o
conhecimento de si e de seu povo para além de suas fronteiras porque isto seria, em
alguma medida, necessário para a plena efetivação do seu reconhecimento; ii) e este,
para estar completo, depende, além do próprio auto reconhecimento dos índios, da
rede social mais ampla e da mútua perspectiva dos não índios. Estas dimensões
certamente não se esgotam, mas fiquemos apenas nesta amostragem.
35 Este encontro assimétrico de subjetividades distintas busca proporcionar – quando
superada a fase da dúvida, o confronto de visões – uma leitura mútua dos atores em
questão, e, consequentemente, um novo modo de relação mais próximo possível de uma
compreensão compartilhada positiva da diversidade social e cultural que envolve
ambas as perspectivas, e não o aspecto oposto, qual seja, os diálogos e as práticas hostis
com o fim de reforçar, ou ampliar, a dúvida sobre a autenticidade do outro – o que
promoveria uma anti-socialidade. De todo modo, isso não quer dizer que a mutualidade
das novas visões, porventura proporcionadas pela experiência da peça, implique
necessariamente em igualdade de percepções. Um não índio que assim se reconheça e
seja reconhecido muito dificilmente compreenderá, exatamente, o que é ser um índio, e
vice-versa. No entanto, isso não os condena à incapacidade perpétua de estabelecer,
através de uma incessante troca de experiências e de historicidades, um conhecimento
e uma relação positivas entre si.
36 Enfim, a produção de socialidade almejada pela linguagem teatral construída pelos
jovens Xokó parece refletir esta busca contínua por um modelo de relação que reflita
um estado de bem-estar e de bem-viver basicamente momentâneos e desejáveis, um
estado da vida e não uma versão acabada desta, sem possibilidades de novas
transformações.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
56
BIBLIOGRAFIA
Arruti, José Mauricio. 2001. “Agenciamentos Políticos da “Mistura”: identificação étnica e
segmentação negro-indígena entre os Pankararu e os Xocó.” Revista Estudos Afro- Asiáticos 23(2):
215-254.
______. 2004. “A Produção da Alteridade: O Toré como Código das Conversões Missionárias e
Indígenas.” Coimbra: VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro (www.ces.uc.pt/lab2004/inscricao/pdfs/
painel47/JoseArruti.pdf).
______. 2009. “Da Memória Cabocla à História Indígena. Conflito, Mediação e Reconhecimento
(Xocó, Porto da Folha/SE).” Pp. 249-270 in: Mitos, Projetos e Práticas Políticas: Memória e
Historiografia, edited by Celestino, M.R., Soihet, R., Azevedo. C. And Gontijo, E. São Paulo, SP:
Civilização Brasileira.
Bartolomé, Miguel A. 2006. “As Etnogêneses: Velhos Atores e Novos Papéis no Cenário Cultural e
político.” Mana 12(1): 39-68.
Cimi. 2012. “Pronunciamento de Sônia Guajajara na Coletiva de Imprensa em Doha – COP-18”
(http://www.cedefes.org.br/?p=indigenas_detalhe&id_afro=9637).
Comissão Pró-Índio de SP. 1983. “A Outra Vida dos Xokó.” Boletim 14 (may/june): 1-25
(www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PBCPISP051983014.pdf).
Dantas, Beatriz G., Dallari, Dalmo. 1980. Terra dos Índios Xocó: Estudos e Documentos. São Paulo, SP:
Comissão Pró-Índio de SP.
Dantas, Beatriz Góis. 1997. Xokó: Grupo Indígena em Sergipe. Aracaju, SE: Secretaria de Estado da
Educação do Desporto e do Lazer.
French, Jan Hoffman. 2002. “Dancing for Land: Law-making and Cultural Performance in
Northeastern Brazil.” Political & Legal Anthropology Review 25 (1): 19-36.
______. 2009. Legalizing Identities: Becoming Black or Indian in Brazil’s Northeast. Chapel Hill, NC: The
University of North Carolina Press.
Grünewald, Rodrigo (Ed.). 2005. Toré: Regime Encantado do Índio do Nordeste. Recife, PE: Editora
Massangana.
McCallum, Cecilia. 2001. How Real People Are Made: Gender and Sociality in Amazonia. Oxford: Berg
Press.
Ortner, Sherry B. 2006. “Power and Projects: Reflections on Agency.” Pp. 129-154 in Anthropology
and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject., edited by idem. Durham and London: Duke
University Press.
Pacheco de Oliveira. João (Ed.). 2004. A Viagem da Volta: Etnicidade, Política e Reelaboração Cultural no
Nordeste Indígena. Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa Livraria and LACED.
Pansica, Rafael Rocha. 2008. Sobre o Perspectivismo Ameríndio e Vice-versa. Dissertação (Mestrado
em Antropologia Social), Florianópolis, SC: UFSC (https://repositorio.ufsc.br/handle/
123456789/103213).
Souza, Natelson Oliveira de. 2011. A Herança do Mundo: História, Etnicidade e Conectividade entre
jovens Xokó. Dissertação (Mestrado em Antropologia), Salvador, BA: UFBA (https://
repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/7104).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
57
Sahlins, Marshall. 2011. “What Kinship Is (Part One).” Journal of the Royal Anthropological Institute.
(N.S.) 17, pp. 2-19.
______. 2011. “What Kinship Is (Part Two).” Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.)17,
pp. 227-242.
Strathern, Marilyn. 1999. Property, Substance and Effect: Anthropological Essays on Persons and Things.
London: Athlone Press.
______. 2006. O Gênero da Dádiva: Problemas com as Mulheres e Problemas com a Sociedade na Melanésia.
Campinas, SP: Editora da UNICAMP.
Viegas, Susana de Matos. 2007. Terra Calada: os Tupinambá na Mata Atlântica do Sul da Bahia. Rio de
Janeiro, RJ e Coimbra: 7 Letras and Almedina.
Virtanen, Pirjo. K. 2007. Changing Lived Worlds of Amazonian Indigenous Young People: Manchinery
Youths in the City and the Reserve, Brazil-Acre. PhD thesis. Latin American Studies, University of
Helsinki.
NOTAS
1. Ver Cimi (2012).
2. Carta produzida no II Seminário Nacional da Juventude Indígena ocorrida de 25 a 30 de
novembro de 2012, em Brasília. Disponível em: <http://tinyurl.com/clyh7un>. Os vídeos com as
discussões ocorridas neste seminário estão disponíveis em <http://www.ustream.tv/recorded/
27352697>, acessos em: 28/04/2013.
3. Cf. <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=235057>, acesso em
28/04/2013.
4. Souza (2011).
5. Grandes proprietários de terras do noroeste do estado de Sergipe que, desde os fins do século
XIX, tomaram posse das terras da antiga missão catequética da Ilha de São Pedro e
protagonizaram sucessivas disputas com os índios Xokó. Ver: Arruti (2004; 2009) e Dantas (1980;
1997).
6. Considerando o peso da idade e dos desafios decorrentes de circunstâncias bastante
conflituosas a que estão constantemente submetidos, assim como o duplo trânsito, cada vez mais
intenso, entre os contextos vivenciados entre as terras indígenas e fora delas. Ver Virtanen
(2007).
7. O conceito é referido na literatura como uma forma momentânea caracterizada por um estado
pleno de bem-estar por parte de um grupo social. A socialidade concerne a tipos de relação
praticados pelos grupos sociais, cujas intenções e projetos são orientados por um horizonte
comum plenamente desejado. É na construção da socialidade que se materializam as moralidades
e eticidades do grupo e os códigos que visam à garantia da organização social que se aproxima de
um tipo ideal. Ver McCallum ([1989] 2001), Strathern ([1988] 2006) e Viegas (2007).
8. Sahlins (2011), em sua análise recente sobre parentesco, trabalha com a noção-chave ‘mutuality
of being’ para demonstrar que a construção de uma rede de parentes ocorre, sobretudo, pela
percepção da mútua implicação da existência de uma pessoa em outras.
9. Esta disposição não deve ser considerada sob a perspectiva de que ela condicionaria os jovens a
um mundo social dado, no qual eles conseguiriam apenas uma rígida adaptação aos valores
sociais já estabelecidos pelos mais experientes. Devemos considerar que os jovens, assim como os
veteranos, são atores sociais que desempenham um papel criativo em sua própria historicidade,
sendo agentes – isto é, portadores de agência (Ortner 2006) – diante dos fenômenos do cotidiano
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
58
que produzem a socialidade Xokó, um tipo de disposição afetivo-relacional posta em prática no
cotidiano da aldeia.
10. Nome fictício.
11. Conhecida no Brasil como ‘agricultura de meação’, é um sistema de exploração de mão-de-
obra de lavradores rurais sem posses, por parte de grandes proprietários.
12. Território conquistado no final da década de 1970 e início da década de 1980, como resultado
do 1º ciclo da intensa luta estabelecida contra a família citada, a partir de 1978. É neste território
que atualmente reside o povo Xokó. Ver Dantas (1997) e Arruti (2004; 2009); e Boletim da
Comissão Pró-Índio-SP (1983), disponível em <www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/
PBCPISP051983014.pdf> acesso em 28/04/2013.
13. Parte contígua à Ilha de São Pedro. É a porção continental do território indígena e que
também esteve sob disputa (2º ciclo de luta), sendo conquistada, efetivamente, apenas em
dezembro de 1991. Consiste em uma densa mata fechada atualmente utilizada para caça, roçados
e rituais.
14. Para uma leitura mais densa sobre esta luta, ver indicações na nota 13.
15. Note-se que, tendo em vista que uso os dois termos, sociabilidade difere de socialidade. O
primeiro, presente na sociologia de Georg Simmel, refere à dimensão mais pura e lúdica da
relação social. O ser humano tende naturalmente a se relacionar sem que para isso haja,
necessariamente, motivações e finalidades objetivas. Strathern (1999: 18-19) difere os termos da
seguinte maneira: "Sociality is frequently understood as implying sociability, reciprocity as
altruism and relationship as solidarity, not to speak of economic actions as economistic
motivations”.
16. Cf. Hoffman-French (2002; 2009): “Local sertanejan culture is entwined with centuries-old
rural folk Catholic practices, such as praying over people who are ill, using local herbs and plants
to treat ailments, pre-dawn processions dedicated to patron saints, passion plays, festivals, and a
complex system of godparentage.” (2002: 24, grifo meu).
17. Ver French (2009: cap. 6).
18. Os Xokó são vizinhos da comunidade quilombola Mocambo. Para saber mais sobre estas
relações de parentesco e segmentação étnica, ver Arruti (2001).
19. Ver Arruti (2001).
20. Na conclusão deste artigo analiso o ato a partir de uma dimensão cujos efeitos eu julgo serem
mais complexos, pois estão intimamente implicados em anseios diversos que almejam um modelo
de relação.
21. Distantes da observação dos mais experientes, tanto para garantir-lhes a surpresa, quanto a
autonomia e o próprio protagonismo dos jovens em torno da construção do enredo.
22. Ver Grünewald (2005).
23. Ver Bartolomé (2006) e Pacheco (2004). Ver também: <http://pib.socioambiental.org/pt/c/
no-brasil-atual/quem-sao/etnogeneses-indigenas>, acesso em 28/04/2013.
24. Apesar do reconhecimento oficial, eles ainda afirmam sofrer, constantemente, com as dúvidas
e preconceitos em torno de sua indianidade.
25. Se tomarmos a realidade como objeto, podemos dizer que “a noção relativista do objeto como
coisa em si não tem nenhum lugar ‘nesse mundo marcado pela variação dos pontos de vista’”
(Lima, 1996: 33 apud Pansica, 2008: 17).
26. Pansica (2008: 19).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
59
RESUMOS
O artigo explora alguns discursos e práticas de jovens índios Xokó, os quais apontam para
estratégias de produção da socialidade do grupo, pequeno povo indígena ribeirinho situado no
estado de Sergipe, Brasil, tendo em vista o seu processo de territorialização presente na própria
vida diária. Das diversas estratégias, aquela que faz uso de linguagens das artes, objeto de análise
neste texto, alcança grande importância para o grupo mais jovem, uma vez que envolve um tipo
inovador de economia nativa de comunicação intersubjetiva com os não índios, assim como entre
eles mesmos. O uso da escrita e da linguagem teatral toma o seu devido espaço quando está em
causa, para os Xokó, o ato de transmitir, eficiente e eficazmente, aos diversos interessados que
constantemente os procuram, o significado étnico do seu modo de ser e o percurso histórico que
experimentaram para ser o que são na vida contemporânea.
This article explores some discourses and practices of young Xoko Indians, which point to
strategies for the production sociality of this group – a small indigenous community located in
the state of Sergipe, Brazil – in view of their process of territorialisation, as present in everyday
life. Among their various strategies, those that makes use of the languages of art attain special
importance for the younger members of the community, as it fosters a certain kind of an
economy of native inter-subjective communication with non-Indians, and among themselves.
The use of writing and theatrical language becomes especially important when it comes to
communicate efficiently and effectively to the many outsiders of the community the meaning of
their “ethnic” way of being and to demonstrate what, historically, made them be what they are
today in contemporary society.
ÍNDICE
Keywords: Xoko Indians, youth, history, sociality, art
Palavras-chave: índios Xokó, juventude, história, socialidade, arte
AUTOR
NATELSON OLIVEIRA DE SOUZA
PINEB/UFBA
Programa de Pesquisas sobre Povos Indígenas no Nordeste Brasileiro. Mestre em Antropologia
(PPGA/UFBA).
natelson81@hotmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
60
O modelo de gestão territorializada
da política de educação escolar
indígena no estado da Bahia
The territorialized management model of the indigenous education policy in the
state of Bahia, Brazil
Carlos Rafael da Silva
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2013-05-06
Aceito em: 2013-10-28
Introdução
1 Fazem parte da história recente da relação entre povos indígenas e o Estado brasileiro
ações e ideologias concebidas com base na concepção de integração cultural à sociedade
nacional. Os povos indígenas eram considerados, até recentemente, seres em transição
numa linha imaginária, com implicações substantivas, que podemos traçar como tendo
dois extremos: o indígena e o ‘civilizado’. A partir da Constituição Cidadã de 1988,
inaugura-se um novo paradigma jurídico e político, reconhecendo-se o direito dos
índios de serem eles mesmos, mantendo suas tradições, costumes, línguas e o direito
originário sobre os territórios que ocupam. A Constituição abre prerrogativa para leis,
regimentos, regulamentos, planos e ações governamentais que reconheçam o direito a
uma educação formal para indígenas, pautada nos princípios de interculturalidade,
especificidade e diferença. Subjacente a esse reconhecimento, está a ideia de uma
sociedade não homogênea, algo que nunca fomos, mas sim multicultural.
2 Porém, em termos de políticas públicas, a legislação em vigor é apenas um primeiro
passo para o reconhecimento da diferença. Para efetivar uma verdadeira política de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
61
educação intercultural nas aldeias indígenas, deve-se observar não somente o conteúdo
das regras, mas também os processos que envolvem sua implementação. Diante disso,
deixa-se de lado uma concepção de ‘cumpra-se’ da política pública, como se a mera
regulamentação fosse elemento suficiente para a sua efetividade, pois a
operacionalização apresenta inúmeros percalços ao nível local. Neste texto
pretendemos apresentar os problemas de implementação da política de educação
intercultural no estado da Bahia, a partir da análise do novo modelo de gestão definido
como Território Etnoeducacional.
3 Essa avaliação está intrinsecamente relacionada ao protagonismo político de indivíduos
e grupos indígenas. Ela é baseada nas pesquisas que realizamos em projetos acadêmicos
e em nossa atuação em espaços do governo e dos movimentos indígenas no estado da
Bahia. Em relação ao governo, ambos participamos da Comissão Gestora do Território
Etnoeducacional, que será descrita ao longo do texto. No âmbito dos movimentos
indígenas, participamos de organizações informais, como o Fórum Estadual de
Educação Escolar Indígena da Bahia (Forumeiba), instância que há mais de uma década
discute a política educacional.
4 Também atuamos como pesquisadores no Projeto Observatório da Educação Escolar
Indígena1, que desde o ano de 2010 realiza um diagnóstico pioneiro da situação
educacional dos povos indígenas no estado da Bahia, a partir de informações coletadas
por professores/pesquisadores em suas aldeias, além de contar com linguistas,
antropólogos, historiadores e cientistas políticos indígenas e não indígenas.
5 Os resultados do Projeto evidenciam déficits de implementação da atual política de
educação formal para indígenas e os condicionantes institucionais sobre a efetividade
do cumprimento da legislação que a regulamenta. Assim, pretendemos expor esses
déficits, bem como correlacioná-los aos condicionantes institucionais, em especial, o
atual regime de colaboração entre as três esferas de governo: municipal, estadual e
federal. Com isso acreditamos contribuir para a concretização efetiva de uma política
de educação intercultural para indígenas no estado.
6 O artigo divide-se em cinco tópicos. Primeiramente apresentamos um breve histórico
da política aqui examinada, tendo como marco inicial a Carta Magna de 1988; num
segundo momento, abordamos o processo de implementação do modelo de gestão do
Território Etnoeducacional no estado da Bahia. Em seguida, apontamos o resultado
material da política, através do diagnóstico do Projeto Observatório. No tópico quatro,
correlacionamos esse resultado com os problemas de implementação. Por fim,
desenvolvemos algumas considerações sobre o atual estado da política educacional e
seu caráter de política de reconhecimento.
Breve histórico da política educacional para povos
indígenas
7 A história republicana do Brasil não tem muito do que se orgulhar das relações entre
povos indígenas e o Estado. Desde a fundação do Serviço de Proteção aos Índios e
Localização de Trabalhadores Nacionais, no ano de 1910 até a Constituição de 1988, as
ações governamentais em aldeias indígenas foram regidas pelo paradigma jurídico e
político da integração à sociedade nacional e pela ideologia da assimilação cultural.
Dessa forma, a política educacional visava a inserção dos diferentes povos indígenas na
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
62
economia de mercado, integrando-os à sociedade envolvente por meio do trabalho, sem
respeitar seus processos próprios de ensino e socialização de conhecimentos, suas
línguas, identidades e projetos comunitários.
8 A Constituição de 1988 põe fim ao paradigma integracionista ao reconhecer o direito
dos índios de serem eles mesmos. O texto constitucional dedica, no Título VIII – Da
Ordem Social, um capítulo exclusivo sobre os direitos dos índios, no qual reconhece a
sua organização social, costumes, línguas e tradições, além dos direitos originários
sobre o território que ocupam. Destaca-se também, no Capítulo III – Da Educação, o
direito ao uso da língua materna e dos processos próprios de aprendizagem, cabendo à
União garanti-los (Silva 2008).
9 A partir da prerrogativa jurídica postulada pela Carta Magna, leis e regulamentos
modificaram as ações governamentais na educação formal para indígenas, ensejando
mudanças em termos de princípios e nas instituições que formulam e executam a
política. Dentre as principais regulamentações podemos citar:
10 O Decreto Presidencial nº 26 e a Portaria Interministerial MJ/MEC n. 559, ambos de
1991, transferem a responsabilidade pela educação indígena da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI) para o Ministério da Educação (MEC) e para os estados e municípios; Lei
nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); o Parecer
14 e a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Educação, ambos de 1999, estabelecem as
Diretrizes Nacionais da Educação Escolar Indígena; a Lei 10.172, de janeiro de 2001, que
estabelece o Plano Nacional de Educação, com prazo de 10 anos para sua execução; e o
Decreto 5.051/04, que ratifica a Convenção nº 169 da Organização Internacional do
Trabalho2. O MEC também publicou documentos de orientação para as escolas
indígenas, como o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (Brasil
1998) e os Referenciais para a Formação de Professores Indígenas (Brasil 2002).
11 Essa legislação regulamenta uma política laica, diferenciada, que respeita os costumes,
tradições, línguas e processos próprios de aprendizagem e as organizações sociais dos
povos indígenas. Também destaca o caráter intercultural como princípio para as
escolas indígenas, ao versar sobre o acesso ao conhecimento e domínio dos códigos da
sociedade nacional, mas enquanto etnias culturalmente diferenciadas. As mudanças
jurídicas e políticas ensejadas incluem a consulta às populações indígenas sobre ações
governamentais que incidam sobre seus territórios, a universalização do Ensino Básico,
bem como o respeito à diversidade sociocultural, através do reconhecimento da
‘categoria escola indígena’, com sua organização jurídica própria, garantia de ensino
bilíngue, funcionamento de escolas no interior de aldeias indígenas – evitando, assim,
afastar as crianças do convívio familiar e comunitário –, construção de escolas nos
padrões arquitetônicos de cada grupo, calendário escolar, currículo e regimentos
próprios, formação de professores indígenas, utilização de material didático específico
e incorporação dos conceitos de educação específica, diferenciada e intercultural.
12 Em relação aos recursos financeiros, a legislação regulamenta que esses sejam oriundos
de impostos da União, dos estados e dos municípios, do Fundo Nacional de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), cujos recursos são repassados de acordo com um valor mínimo estabelecido
para a categoria “Educação Indígena e Quilombola” e por coeficientes de distribuição,
calculados pelo número de matrículas dos municípios e estados. Além disso, pelo fato
das escolas pertencerem aos sistemas municipais e estaduais, essas recebem recursos
dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como o
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
63
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar
Indígena (PNAEI) e Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), entre outros.
13 Em termos institucionais, a política educacional, até então de exclusiva
responsabilidade do órgão indigenista, a Fundação Nacional do Índio, passa a ser
coordenada pelo Ministério da Educação, contando com órgãos específicos para tratar
da questão em sua estrutura administrativa3, e executada pelas secretarias municipais e
estaduais de educação, através de um regime de colaboração entre as três esferas de
governo.
14 No caso específico do estado da Bahia, há uma legislação que regulamenta as escolas
indígenas, baseada nas leis federais descritas acima. No ano de 2007, ocorrem mudanças
institucionais na Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-Ba), como a
desvinculação prática da Coordenação do Campo da Coordenação Indígena, sendo essa
última coordenada por uma indígena do povo Tuxá. Além disso, criam-se Coordenações
Indígenas em 14 Diretorias Regionais de Educação, também ocupadas por
representantes indígenas. Dessa forma, em tese, o aparato burocrático do Estado torna-
se mais participativo e responsivo diante das demandas dos públicos-alvo.
Processo de implementação do território
etnoeducacional
15 Dando continuidade às regulamentações legais no âmbito da educação escolar indígena,
no ano de 2009, o então Presidente Luis Inácio Lula da Silva assinou o Decreto Nº 6.861,
que institui uma forma de gestão das políticas educacionais para os povos indígenas,
através dos Territórios Etnoeducacionais (TEe). O Decreto institui um mecanismo
jurídico-administrativo inovador, estabelecendo que “[...] cada Território
Etnoeducacional compreenderá, independentemente da divisão político-administrativa
do País, as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas por povos indígenas”
(Brasil 2009a: 25).
16 A administração da educação escolar indígena continua a ser coordenada pelo
Ministério da Educação, sendo executada pelos estados e municípios presentes no
Território estabelecido. O MEC define os Territórios, sendo ouvidas as comunidades
indígenas, os entes federativos envolvidos, a Fundação Nacional do Índio, a Comissão
Nacional de Educação Escolar Indígena, os Conselhos Estaduais de Educação Escolar
Indígena e a Comissão Nacional de Política Indigenista.
17 No decreto considera-se, em princípio, a organização territorial indígena, pois permite
estabelecer um Território que compreenda as terras de um povo ou de vários povos,
mesmo que esses estejam presentes em diversos municípios ou estados. Sabemos que os
povos indígenas muitas vezes não coincidem sua ocupação territorial com as unidades
da divisão geopolítica do Estado brasileiro. Por exemplo, povos como o Pataxó ocupam
diferentes estados. Já outros, como o Guarani, estão presentes em mais de um país.
Essas diferentes disposições de ocupação territorial, combinadas ao federalismo
brasileiro, têm levado a situações como a relatada por Gersem dos Santos Luciano:
[…] em que um povo que fala a mesma língua, mas, em um estado este povo é
atendido com uma escola bilíngue e ensino médio, material didático próprio e com
formação de professores em nível superior, enquanto que, em outro estado, este
mesmo povo não dispõe de nada disso e sua luta ainda se concentra no atendimento
das primeiras séries do ensino fundamental. (2011: 09)
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
64
18 Em tese, estaríamos diante de uma resposta ao problema da fragmentação do serviço
educacional oferecido às populações indígenas, pois abre-se a possibilidade de se
fortalecer o regime de colaboração entre o Governo Federal e as unidades subnacionais,
por meio de uma Comissão que irá gerir o Território. O decreto expressa o vínculo entre
os entes federativos, mas também promove a ampliação do número de atores que
participam das decisões referentes à política educacional no interior do Território, pois
organizações não governamentais e os povos indígenas têm suas representações
garantidas nessa Comissão Gestora4.
19 Uma das funções dessa Comissão é criar um Plano de Ação, que deve ser composto por
um diagnóstico da situação educacional do Território e por um planejamento de ações
para atender as demandas. O processo de construção do plano de ação do Território
Etnoeducacional Yby Yara foi acompanhado por nós e serviu de base para a análise
apresentada neste texto.
Construção do Tee Yby Yara
20 O processo de implementação do TEe no estado da Bahia foi iniciado ao longo de três
reuniões realizadas no ano de 2010. Num primeiro momento, com a participação de
representantes do MEC, da FUNAI e de povos indígenas da região nordeste, foi
deliberado que o Território Etnoeducacional, de nome Yby Yara 5, seria composto pelos
14 povos indígenas no estado da Bahia. Numa segunda reunião, foi composta a
Comissão Gestora. As principais funções dessa Comissão dizem respeito ao plano de
ação do TEe, sendo essa responsável pela elaboração, pelo acompanhamento da
execução do plano e por sua revisão. Um dos pontos importantes desse plano de ação é
o diagnóstico da situação do TEe, que foi confeccionado durante um encontro amplo,
envolvendo as representações da Comissão Gestora, como lideranças indígenas,
professores e pesquisadores universitários, organizações não governamentais, FUNAI,
MEC, secretarias municiais e secretaria estadual da educação.
21 Registre-se a ocorrência de uma reunião no ano de 2011, na qual foi estabelecido o
regimento da Comissão Gestora e elencadas suas atribuições. Porém, desde então, o
processo de implantação do Território Etnoeducacional está parado. A Comissão
Gestora, promovida para catalisar o regime de colaboração entre os entes federativos e
demais instituições que atuam na educação escolar indígena, não tem funcionado como
previsto, pois a grande maioria das secretarias municipais não participa. Além disso, as
reuniões dessa Comissão dependem de diversos atores, dificultando a eficiência do
processo de implantação. Por exemplo, no ano de 2012, a morosidade no processo de
repasse de verbas entre o MEC e a FUNAI resultou na realização de uma única reunião
da Comissão, no mês de dezembro, às vésperas do natal, com o convite enviado para os
participantes uma semana antes do evento. Assim, o Território Etnoeducacional, por
enquanto, só existe em nossas intenções e papeis de pactuação, posto que as ações
continuam sendo realizadas de forma isolada pelas instituições responsáveis pela
política de educação.
22 Entretanto, é nesse contexto de fragmentação e descontinuidade dos serviços públicos
educacionais que emerge um forte protagonismo político de indivíduos e organizações
indígenas e de parceiros desses atores. Por exemplo, a proposta inicial dos Territórios
Etnoeducacionais foi modificada durante o seu processo de implantação. Na I
Conferência de Educação Escolar Indígena, no ano de 2009, o Governo Federal, por meio
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
65
do MEC, propôs três Territórios para a região Nordeste. Desde a Conferência, as
lideranças indígenas e indigenistas questionaram os critérios utilizados nas
delimitações, ora solicitando novas configurações para os Territórios, ora reivindicando
a construção de um sistema próprio para a educação escolar indígena. A negociação
com o governo culminou, para o caso da Bahia, na construção de um só Território que
abarcasse o estado, e três Territórios no restante do Nordeste.
23 Além disso, durante o encontro, no qual foi confeccionado o diagnóstico da Comissão
Gestora, houve forte participação de professores indígenas, indigenistas, professores
universitários e participantes de organizações não governamentais, que completaram
muitas das informações sobre a realidade educacional no estado, pois os dados oficiais
estavam defasados.
24 Gostaríamos de destacar que participei de todo o processo de construção desse
Território, inclusive como representante indígena na Comissão Gestora. Pudemos
observar e participar de um rico processo de protagonismos de sujeitos historicamente
marginalizados no que tange à construção de políticas públicas, não obstante a
descontinuidade de tal política. Não queremos com isso diminuir a problemática desse
modelo de gestão, mas sim ressaltar a importância da participação indígena em
processos democráticos de deliberação pública. Há uma forte potência nesse
protagonismo, presente na constituição da cidadania por meio da participação na
comunidade política brasileira e na construção de políticas mais efetivas quando
construídas com informações mais precisas sobre os públicos aos quais se destinam.
Assim, entendemos que a participação não é a parte problemática do processo aqui
analisado, mas sim os desdobramentos da política, principalmente em relação à
continuidade de sua execução.
Resultado material da política de educação escolar
indígena
25 O diagnóstico desenvolvido pelo Projeto Observatório da Educação Escolar Indígena,
através de seus pesquisadores, colaboradores e bolsistas indígenas em suas
comunidades, permite-nos traçar um panorama da situação do Território Yby Yara.
Esse Projeto, que compõe a Comissão Gestora do referido Território, e está
institucionalmente vinculado ao Programa Multidisciplinar de Estudos Étnicos e
Africanos da Universidade Federal da Bahia, atua em cooperação com a Licenciatura
Intercultural da Educação Escolar Indígena, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
Ele visa à inserção dos professores indígenas nos projetos de pesquisa em educação e
produção conjunta de material didático, tendo, como um dos seus instrumentos, a base
de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP)6, direcionada para o campo específico da educação escolar indígena. Numa de
suas metas, propõe a construção de uma cartografia da educação indígena na Bahia,
tendo como base inicial as fontes de dados do INEP e a pesquisa desenvolvida por
bolsistas para a elaboração de um diagnóstico do Território Etnoeducacional Yby Yara.
26 Os bolsistas do Observatório utilizam questionários e entrevistas semi-estruturadas,
visando ao levantamento de dados quantitativos e qualitativos sobre a educação em
suas respectivas aldeias. Esses instrumentos de pesquisa são baseados em categorias do
INEP, como quantidade de professores e de alunos, e também em categorias elaboradas
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
66
pelos bolsistas, através das entrevistas e depoimentos de pessoas das aldeias, como a
quantidade de alunos indígenas que estudam externamente às áreas indígenas.
27 Assim, no ano de 2010 diagnosticamos 60 escolas indígenas, nas quais lecionam 420
professores e estudam 7.730 alunos. Dessas 60 escolas, 51 são municipais e apenas 09
estavam sob responsabilidade direta do sistema de ensino estadual 7. Isso explica o fato
de apenas 06 escolas oferecerem turmas de Ensino Médio, posto que esse ensino é
prerrogativa das escolas estaduais, enquanto o restante só oferta turmas do Ensino
Fundamental. Interessante notar que apenas três escolas não estavam localizadas em
terras indígenas legalmente demarcadas.
28 Em relação ao material didático específico, elaborado por professores indígenas, 43
escolas utilizam-no, enquanto 17 somente utilizam os livros didáticos nacionais. Porém,
verifica-se que o material didático específico é utilizado somente nas turmas iniciais do
Ensino Fundamental, limitando a ideia de interculturalidade na prática de ensino e
aprendizagem das turmas de Ensino Médio. Todas as escolas dispõem de fornecimento
de merenda escolar, mas relata-se inadequação do cardápio oferecido na merenda e a
descontinuidade na oferta desse serviço público.
29 Em termos de estrutura física, 42 funcionam em prédios escolares, 08 das quais contam
com laboratório de informática e apenas 07 com salas de leitura ou biblioteca. Porém,
18 escolas não funcionam em prédios escolares e nenhuma possui laboratório de
ciências. Além disso, o que os censos oficiais registram como prédio escolar mascara o
grande déficit de implementação da rede física da educação escolar indígena,
principalmente na rede municipal de ensino. Em pesquisa de campo, constatei que
muitas escolas funcionam em prédios improvisados, como casas de professores, igrejas,
bares e casas de farinha. Além disso, há escolas que funcionam, de forma ainda mais
improvisada, em armazéns de cacau, casas de barro, de lona e de palha.
30 Segundo dados do INEP de 2008 (Brasil 2009b), que contabilizava 6.969 alunos
indígenas, a maioria dos estudantes - 4.993 - estava nas turmas iniciais do Ensino
Fundamental, 995 em turmas de Educação Infantil, enquanto apenas 225 matriculados
no Ensino Médio, número menor do que o de matrículas nas Turmas de Educação para
Jovens e Adultos, que contavam com 726 alunos. A maioria desses estudantes estudava
em turmas multisseriadas – 1.205, existindo somente 14 turmas unificadas. Em
depoimentos, os professores indígenas apresentam como óbice para o processo de
aprendizado do aluno o fato das turmas serem multisseriadas. Todos os alunos,
independente da turma, assistem às aulas no mesmo horário e na mesma sala. A turma
multisseriada é um problema enfrentado por indígenas em todo o estado. Nelas, os
alunos, em diferentes estágios de formação, têm o aprendizado prejudicado, por não
disporem de um atendimento mais especializado, de acordo com os conteúdos
demandados pelo grau de formação de cada um.
31 Em relação aos professores, registra-se que já foram oferecidos dois cursos de Formação
de Professores no Nível Médio, o chamado Magistério Indígena, que formaram cerca de
197 professores. Além disso, vale notar que nunca ocorreu um concurso específico para
professores indígenas atuarem em sala de aula. Apesar de não termos o número exato,
cerca de 90% dos 420 professores trabalham por regime de contrato, seja pelo
município, seja pelo estado. A maior parte dos professores das escolas estaduais
trabalha sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), cujo tempo máximo
de duração do contrato é de 04 anos. Há professores e demais servidores, como
merendeiras, faxineiros, zeladores e vigias, que trabalham pelo regime de Prestação de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
67
Serviço Temporário (PST). Nesse tipo de contrato, utilizado para pagamento de
estagiários, negam-se os direitos trabalhistas aos servidores, como férias, décimo
terceiro salário, seguro-desemprego, além de não terem garantias sobre a continuidade
dos contratos. Nos municípios, os contratos são anuais, expondo os professores e
servidores a uma situação de vulnerabilidade trabalhista, posto que esses estão em
situação semelhante aos que são contratados via PST.
Déficits de implementação da política de territórios
etnoeducacionais
32 Diante desse quadro, verifica-se uma inadequação entre a legislação que regulamenta a
política de educação para povos indígenas e o seu resultado material. A legislação, os
planos e programas evidenciados no tópico I apresentam-nos uma realidade muito
distante da encontrada nas aldeias indígenas no Território Etnoeducacional Yby Yara.
De forma sumária, tentaremos abordar, neste tópico, indícios dos condicionantes
negativos do desenho da política sobre a sua implementação, tendo essa como variável
explicativa da inadequação entre a legislação em vigor e o resultado final da política
pública.
O regime de colaboração do sistema federativo
33 O pressuposto teórico do ciclo da política apresenta, em geral, quatro fases de uma
política pública: formação da agenda do governo, elaboração, implementação e
avaliação. Desde a década de 1960, Charles Lindblom afasta a ciência política das
perspectivas do direito e da administração pública, que consideravam a implementação
como uma fase automática da política, na qual se cumpriam os cursos de ação
elaborados nos planos, leis, metas e programas de governos. Sua análise demonstra
como a implementação é uma fase autônoma da vida de uma política pública, ensejando
decisões, além de modificar os cursos de ação inicialmente planejados, reformulando a
própria política (Lindblom 1981). Concebemos esse modelo cíclico como um construto
metodológico para entender relações que no concreto real são mais dinâmicas e
imbricadas. Porém, tal construto, oriundo de uma análise sistêmica dos processos
políticos, é útil para compreendermos os déficits anunciados anteriormente.
34 Assim, com base nesse modelo analítico, entendemos que a inadequação entre a
legislação e o resultado final da política pode ser explicada pelos processos de
implementação. Neste artigo desenvolvemos a ideia de que o desenho da política, em
especial o regime de colaboração entre os entes do sistema federativo brasileiro,
condiciona negativamente o processo de implementação. Vejamos.
35 Segundo exposto no tópico I, a política de educação escolar indígena é coordenada pelo
MEC e executada pelas unidades subnacionais. Porém, a legislação que trata do assunto
não define claramente as responsabilidades dos entes federativos. O Conselho Nacional
de Educação constatou tal vácuo institucional e emitiu o Parecer 14 e a Resolução nº 03,
ambas no ano de 1999, considerando que, dadas as peculiaridades da educação escolar
indígena, os sistemas de ensino estaduais devem se responsabilizar por ela,
apresentando-se como competência dos municípios somente quando esses disporem de
recursos financeiros e técnicos para tanto, atuando em colaboração com o sistema
estadual e sob a anuência das comunidades indígenas.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
68
36 Porém, quando da implementação da política de educação pós-Constituição na Bahia, os
policy makers8 adotaram como referência os postulados da Lei de Diretrizes e Bases, de
1996, que apontam como prerrogativa do sistema estadual de educação o atendimento
às escolas que ofertam turmas de Ensino Médio, assim como coloca sob a
responsabilidade dos sistemas municipais as escolas que ofertam Ensino Fundamental.
Diante disso, observa-se que a maioria das escolas indígenas, 51 ao todo, é vinculada aos
municípios, e apenas 09 são estaduais. As burocracias municipais, pouco preparadas
técnica e financeiramente para tratar da educação escolar indígena enquanto uma
política intercultural, absorveram a burocracia federal, responsável pela elaboração da
política em termos de resoluções, pareceres, planos e programas.
37 As secretarias municipais não oferecem à maioria das escolas indígenas apoio para a
formulação de projetos políticos pedagógicos próprios, merenda escolar com cardápio
diferenciado ou construção de escolas de acordo com as características arquitetônicas
requeridas pelas aldeias.
38 Além do despreparo técnico, as receitas de impostos dos municípios e os recursos
financeiros captados pelo FUNDEB e FNDE não têm surtido efeito para dirimir os
déficits, como o de construção de escolas. Tais recursos são baseados em coeficientes de
distribuição, que em geral levam em consideração a relação de matrículas do sistema de
ensino. Mesmo com os valores mínimos de aplicação, como as escolas indígenas têm
baixa densidade na relação entre professor/aluno/escola, esses recursos se tornam
insuficientes. Além disso, enfrentam-se os problemas de gestão presentes nas
secretarias municipais e estadual. Em alguns casos, mesmo com o recurso
descentralizado pelo FNDE, atrasos nos processos de prestação de contas acarretam a
descontinuidade dos serviços de merenda e transporte escolar.
39 Por fim, observamos a problemática da representação social e imagética sobre o índio.
Em muitos municípios baianos os povos indígenas são vistos como privilegiados. Diante
de um quadro de desigualdade social aguda, como o da sociedade brasileira, garantir
direitos específicos para um determinado grupo ressoa como privilégio e não como
direito. Não bastasse a imagem historicamente distorcida sobre os povos indígenas, em
muitos casos esses estão em conflito aberto com o Poder Público Municipal, devido às
disputas fundiárias. Assim, encontramos relatos de gestores públicos que consideram
desnecessária uma escola somente para indígenas ou não entendem o porquê da
existência de tal política, além dos casos extremos nos quais alunos indígenas, que
estudam em escolas não indígenas das cidades em seu entorno, são proibidos de acessar
a escola, devido a ameaças de apedrejamento.
40 Revelador desse quadro é o dado de que dos 19 municípios com escolas indígenas,
somente 04 contam com coordenações indígenas em sua estrutura administrativa.
Muitos municípios inserem as escolas indígenas em Coordenações do Campo, não
oferecem apoio à construção de um projeto político pedagógico próprio, ao uso de
material didático específico e à contratação de professores indígenas em regimes
específicos de contrato, ou mesmo por concursos diferenciados.
41 Tentando contornar essa dificuldade, o Decreto que instaura os Territórios
Etnoeducacionais regulamenta que a educação escolar indígena seja gerida por uma
Comissão Gestora, da qual devem participar, obrigatoriamente, secretarias municipais,
estaduais e representantes indígenas. Porém, no processo de implementação do
Território, ao acompanharmos todas as reuniões, verificamos que apenas 08 secretarias
municipais participaram. A explicação de tal liberdade de ação encontra-se no desenho
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
69
da política. A regulamentação federal, devido à diversidade do público-alvo, é muito
aberta e genérica, expondo princípios e prerrogativas, mas sem elementos de sanção
para com as instituições públicas que não cumpram com seus deveres. Encontramos na
análise documental termos como ‘estimular’, ‘participar’, ‘garantir’, e poucos termos
como ‘sancionar’ e ‘é dever’. As regulamentações deixam em aberto a responsabilidade
sobre a educação escolar indígena, permitindo situações de políticas pouco
institucionalizadas, como no caso da Bahia. Infelizmente, de forma metafórica, há de se
concordar com o velho Hobbes: “[...] os pactos, não passando de palavras e vento, não
têm qualquer força para obrigar, dominar, constranger ou proteger ninguém, a não ser
os que derivam da espada pública.” (1994: 151).
Condiderações finais
42 Apesar da problemática apresentada, não se pode negar o crescimento vertiginoso das
ações governamentais para a educação escolar indígena. Vinte e cinco anos após a
Promulgação da Constituição de 1988, construímos uma legislação sólida que abarca
diferentes dimensões dos processos educacionais de ensino e aprendizagem nas aldeias
indígenas. Da estrutura física à formação de professores, reconhece-se o caráter
intercultural da educação escolar indígena. Além disso, uma série de mudanças
institucionais criaram estruturas burocráticas para atender à elaboração e execução da
política.
43 Porém, o desenho da política deve ser redimensionado, tendo em vista a forma como o
sistema político brasileiro converte as demandas da sociedade civil em ações de
governo. O regime de colaboração entre os entes federativos, ao contrário do que
previram nossos legisladores, tem sido pouco eficiente na execução de uma política
efetivamente intercultural. Talvez seja o momento dos nossos policy makers, em diálogo
com as populações indígenas, repensarem o desenho da política, optando por uma
medida conservadora que envolva a centralização administrativa na esfera federal de
governo.
44 A centralização pode representar ganhos em termos de eficácia e eficiência da política,
ao diminuir o número de pontos de vetos das decisões, concentrar captação e execução
de recursos numa única unidade administrativa federal, que, inclusive, pelo histórico
da política e pela formulação de planos e programas, mostre-se mais sensível à
especificidade indígena do que as burocracias municipais.
45 Como pudemos constatar no trabalho de campo nas escolas e nos depoimentos de
pesquisadores indígenas, a escola tem se tornado um espaço central para a reafirmação
étnica, recuperando a autoestima de indivíduos e grupos que se identificam enquanto
indígenas. Os professores indígenas dentro das salas de aula, alunos sendo atendidos em
suas respectivas comunidades, a elaboração de alguns materiais didáticos específicos,
aulas que abordam aspectos simbólicos e culturais dos povos indígenas, como as aulas
de direito indígena, sobre grafismo, pintura, história indígena, são elementos positivos
dentro dessa nova escola.
46 A construção da identidade individual e coletiva perpassa o exercício da alteridade, isto
é, constrói-se uma identidade a partir da interação com os ‘outros-importantes’, sendo
esses outros constituídos pelos grupos primários nos quais os indivíduos são formados
e/ou pela sociedade como um todo (Taylor 1999). Assim, as políticas de reconhecimento
permitem modificações na formação de uma auto-imagem depreciativa de indivíduos e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
70
grupos, e a sobrevivência cultural desses grupos, no sentido de garantir às gerações
futuras a oportunidade de escolherem a permanência de determinados padrões
próprios de sociabilidade, como a língua a ser falada ou o tipo de educação a ser
transmitida (Taylor 1999; Appiah 1999).
47 Minorias étnicas, como os mais de 200 povos indígenas presentes no território
brasileiro, têm na política de educação, entendida por nós como uma política de
reconhecimento, um potencial exercício de desenvolvimento de seu protagonismo
político. Compreendemos que a educação formal pode contribuir para outras formas de
interação entre as aldeias e a chamada sociedade envolvente, por meio da
intermediação de saberes que a escola pode propiciar.
48 Assim, evidenciar a implementação insatisfatória da política de educação escolar
indígena, em nossa concepção, é contribuir para esse novo papel da escola dentro das
aldeias, que valorize a realidade local nos processos de ensino e aprendizagem,
consolidando a liberdade de escolha para indivíduos e grupos sobre o presente e o
futuro das coletividades às quais pertencem.
BIBLIOGRAFIA
Appiah, K. A. 1994. “Identidade, autenticidade e sobrevivência.” In Multiculturalismo, organizado
por Amy Gutmann. Lisboa, LIS: Instituto Piaget.
Brasil. 1998. Referencial curricular nacional para as escolas indígenas. Brasília, DF: MEC/SEF.
______. 2002. Referenciais para a formação de professores indígenas. Brasília, DF: MEC/SEF.
______. Decreto nº 6.861. Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define sua organização em
Territórios Etnoeducacionais, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 maio. 2009a. Seção 1, p. 23-25. Disponível em: < http://
www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=23&data=28/05/2009>. Acesso em: 29 dez.
2009a.
______. 2009b. Um olhar sobre a educação indígena com base no censo escolar de 2008. Brasília, DF: Inep.
Grupioni, Luís Donisete Benzi (Org.). 2005. As leis e a educação escolar indígena: programa parâmetros
em ação de educação escolar indígena. 2. ed. Brasília, DF: MEC/SECAD.
Hobbes, Thomas. 1994. O Leviatã. São Paulo, SP: Editora Nova Cultura.
Lindblom, Charles Edward. 1981. O processo de decisão política. Tradução Sérgio Bath. Brasília, DF:
Editora Universidade de Brasília.
Luciano, Gersem dos Santos. 2011. Territórios Etnoeducaionais: um novo paradigma na política
educacional brasileira. Brasília, DF: MEC. Disponível em: <http://www.cinep.org.br/uploads/
e42d706bbd109ef3e5c5b8b41e310eeab53c3dd5.pdf>Acesso em: 27 fev. 2011.
Silva, Luiz Fernando Villares (Org.). 2008. Coletânea da legislação indigenista brasileira. Brasília, DF:
CGDTI/FUNAI.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
71
Taylor, Charles. 1994. “A política de reconhecimento”. In Multiculturalismo, organizado por Amy
Gutmann. Lisboa, LIS: Instituto Piaget.
NOTAS
1. O autor foi bolsista de iniciação científica e Jéssica T. C. e Silva participou como pesquisadora
voluntária no Projeto.
2. Essa legislação pode ser encontrada na publicação organizada por Luiz Fernando Villares Silva
(2008).
3. No ano de 2004 é criada, na estrutura administrativa do MEC, a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade, contando com uma Coordenação Geral de Educação
Escolar Indígena.
4. De acordo do com o Decreto 6.861/09, a Comissão deve ser composta por representantes do
MEC, FUNAI, um representante de cada povo indígena que habita o Território, entidades
indigenistas, Secretários de Educação dos Estados, do Distrito Federal e Municípios presentes no
Território estabelecido, e ainda aceitar a admissão de outros membros, como representantes do
Ministério Público, das instituições de educação superior, das redes de formação profissional e
tecnológica ou de outros órgãos ou entidades que desenvolvam ações voltadas para a educação
escolar indígena.
5. Segundo definição dos indígenas do povo Tupinambá, o termo significa “donos da terra” em
Tupi.
6. O Inep é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, à qual cabe promover
estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro para subsidiar a
formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional.
7. Observamos, nos últimos anos, um processo de estadualização das escolas indígenas no estado
da Bahia. No ano de 2013 encontramos 22 escolas estaduais.
8. Políticos e burocratas que elaboram uma política pública.
RESUMOS
Neste texto, a partir das pesquisas desenvolvidas pelo Projeto Observatório da Educação Escolar
Indígena - Núcleo do Território Etnoeducacional Yby Yara, abordaremos algumas questões
referentes aos limites institucionais do modelo de gestão dos Territórios Etnoeducacionais para a
execução de uma política de educação escolar indígena intercultural. O Projeto propõe um
conjunto de ações voltado para o protagonismo indígena, por meio da formação de professores e
pesquisadores indígenas, produção de conhecimento intercultural e articulação política e
acadêmica, estimulando e subsidiando iniciativas educacionais e de pesquisa nos recém-criados
Territórios Etnoeducacionais. Assim, pretendemos discutir algumas questões teórico-
metodológicas referentes à implementação de políticas públicas para povos indígenas. A
expectativa é que essa discussão contribua na avaliação dessas políticas, tema ainda pouco
explorado, seja na ação governamental, seja na pesquisa científica.
In this article, based on research conducted by the “Projeto Observatório – Núcleo Yby Yara”, we
discuss the institutional limits of the management model of “Territórios Etnoeducacionais” and
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
72
the implementation of an intercultural policy of indigenous education. The project in question
proposes a set of actions aimed to foster indigenous protagonism through the training of
indigenous professors and researchers, production of intercultural knowledge and political and
academic articulation, stimulating and subsidizing educational and research initiatives in the
newly created “Territórios Etnoeducacionais”. Within this context, the article analyzes some of
the theoretical and methodological issues related to the implementation of public policies for
indigenous peoples, aiming to contribute towards the evaluation of such policies, still of little
concern to governmental agencies and scientific research alike.
ÍNDICE
Keywords: public policies, indigenous education, territórios etnoeducacionais
Palavras-chave: políticas públicas, educação escolar indígena, territórios etnoeducacionais
AUTOR
CARLOS RAFAEL DA SILVA
Mestrando em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. Bolsista do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Esse texto foi escrito em colaboração com
Jéssica Torres Costa e Silva, indígena do povo Xucuru-Kariri e pesquisadora da política
indigenista no estado da Bahia.
rafael.silva_19@hotmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
73
Processos de criação da política
indigenista no estado da Bahia:
Atores e arranjos institucionais
Processes of creation of indigenous policy in the state of Bahia: actors and
institutional arrangements
Jéssica Torres Costa e Silva
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2013-05-06
Aceito em: 2013-08-03
Introdução
1 Desde o final da década de 1980, a política indigenista vem sofrendo transformações
significativas, tanto no que diz respeito às suas diretrizes, metas e conteúdo, quanto aos
arranjos institucionais de gestão da política e de responsabilização de órgãos e esferas
de governo que a promovem. Como é largamente sabido, a Constituição Federal de 1988
contém um capítulo específico sobre direitos indígenas, reconhecendo aos índios o
direito a exercerem e terem respeitados seus usos, costumes, crenças e tradições,
superando desta forma o conteúdo integracionista do modelo de intervenção anterior.
2 Inaugura-se, assim, a responsabilização do Estado brasileiro pela proteção e promoção
dos projetos específicos das comunidades indígenas. O que se segue, a partir da década
de 1990, é a construção de um paradigma participacionista na relação entre o Estado
brasileiro e os povos indígenas, caracterizado pelo estabelecimento de uma série de
normativos jurídicos que reafirmam o direito dos últimos a contribuírem para a
construção e execução de políticas públicas a eles direcionadas ou que os afetem de
alguma forma1.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
74
3 Neste novo momento político, criam-se grandes expectativas em relação à promoção da
autonomia e do protagonismo dos povos indígenas em sua relação com o Estado e com a
sociedade brasileira. No que diz respeito à dinâmica de gestão de políticas públicas,
observa-se o estabelecimento de diretrizes que contemplam a coesão social e territorial
dos povos indígenas, o que, aliado às mudanças na Administração Pública no contexto
de Reforma do Estado no Brasil, proporcionou transformações no padrão centralizado
da política.
4 Atualmente, a política indigenista insere-se na dinâmica das relações
intergovernamentais. Os normativos que a regulamentam, em sua maioria, foram
instituídos no âmbito da esfera federal – notadamente na forma de decretos
presidenciais e portarias ministeriais e interministeriais –, estabelecendo diferentes
orientações para cata setor, com vistas à inclusão dos povos indígenas como público-
alvo nas políticas desenvolvidas por eles. A descentralização das políticas sociais incluiu
os estados e municípios como entes essenciais no processo de implementação destas 2.
5 Diante deste quadro, abordaremos, no presente artigo, o processo de
institucionalização da política indigenista no governo da Bahia, caracterizando seu
modelo institucional, bem como os condicionantes sobre a interação dos atores
políticos que procuram influenciar as decisões da agenda estadual. Mais detidamente,
procuramos analisar como os atores indígenas estão posicionados dentro do aparato
estatal e os limites e possibilidades do desenho da política indigenista na Bahia em
termos de efetividade política e administrativa para com os grupos indígenas.
6 Quando nos referimos à política indigenista, procuramos evitar incorrer numa
reificação tanto do ser índio, quanto do Estado enquanto ente homogêneo e estático.
Este é uma instituição complexa, permeada por conflitos internos, diferentes
organizações, lógicas de atuação e metas que podem ser, muitas vezes, contraditórias.
7 Diante disso, evitamos associar de forma determinística a conformação da política
indigenista e seus resultados diretamente aos interesses de grupos econômicos, de
classes ou grupos sociais ou apenas dos atores governamentais. Dada a complexidade da
sociedade, do Estado e das próprias políticas públicas, a perspectiva sobre o Estado
enquanto relativamente autônomo parece mais adequada à análise do objeto. Nessa
linha, mesmo sofrendo condicionantes estruturais e influências externas, o Estado
detém um espaço de atuação que lhe é próprio (Souza 2007).
8 Adotar essa perspectiva não significa descartar o papel das ideologias e dos interesses
econômicos e particulares que informam, muitas vezes, a concepção da política
indigenista, da mesma forma que não é suficiente atestar que diversos fatores
influenciam na conformação da mesma. Mas antes de assumir a priori o papel de forças
e interesses de grupos da sociedade ou de atores governamentais particulares na
condução da política indigenista, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas
empíricas que levem em consideração os diferentes fatores que convergem para a
construção de uma política, tais como, as capacidades do Estado de formular e
implementar políticas, o papel e a influência dos grupos de interesse, da interação no
espaço público, dos atores estatais e governamentais, além dos arranjos institucionais
adotados.
9 Tendo em vista a adoção de um pressuposto teórico-metodológico comum às
abordagens neoinstitucionalistas, de que as instituições modelam comportamentos e
impactam significativamente a construção das políticas públicas (Hall, Taylor 2003),
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
75
entendemos que a partir da promulgação da Constituição de 1988 e do reforço dos
direitos sociais para os povos indígenas, conformar arranjos institucionais eficazes para
colocar em prática as diretrizes e metas apresentadas é um desafio para o sistema
político. Dentre os vários elementos que podem envolver a conformação da política
indigenista, orientamos nosso foco para o estudo das estruturas organizacionais e do
desenho institucional da política indigenista no governo da Bahia. Para tanto, lançamos
mão das seguintes técnicas de pesquisa: a) análise documental; b) entrevistas em
profundidade e semi-estruturadas; c) observação participante.
10 Em um primeiro momento procedemos à busca dos marcos normativos que
regulamentam a política no âmbito federal e estadual, a fim de identificar os arranjos
institucionais adotados. Também recorremos à análise de planos executivos, além do
orçamento indigenista, o que nos possibilitou identificar as ações e programas
específicos, os recursos alocados, além dos órgãos envolvidos na gestão da política 3.
Durante essa pesquisa, nos deparamos com a dificuldade de localização dos marcos
regulatórios que referenciam a política indigenista e com a escassez, ou mesmo falta de
sistematização, de dados documentais, principalmente em decorrência da diluição do
tema indígena em políticas mais gerais.
11 As informações documentais foram, então, complementadas com a realização de
entrevistas com gestores da política e lideranças indígenas. Procedemos a entrevistas
em grupo, individualmente e por meio eletrônico4. O material colhido foi de extrema
importância para a identificação de documentos sobre algumas agências e também
como elemento norteador da pesquisa no sentido de apontar atores envolvidos na
política5.
12 Ressaltamos que a autora deste artigo é índia diretamente implicada na cena da política
indigenista do estado da Bahia, atuando tanto em espaços do movimento indígena
quanto em arenas participativas do governo estadual e federal. Ademais, possui
experiência como técnica da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate
à Pobreza, função exercida durante pouco mais de um ano. Desta forma, as análises e
conclusões apresentadas são resultado, em parte, da observação em campo efetuada
pela autora em espaços do movimento indígena e, complementarmente, do
acompanhamento de reuniões de órgãos colegiados e de atividades realizadas por
órgãos da política, mas estão também imbuídas de reflexões anteriores, a respeito das
nossas próprias práticas e de nossos pares, sem as quais não teríamos proposto a
elaboração do presente texto. Por conta disso, cabe ressaltar a dificuldade de se
estabelecer um inicio e um fim para o trabalho de produção de dados dessa pesquisa,
mas as entrevistas e a ida a campo foram realizadas, de forma intermitente, durante o
ano de 2012. Por fim, não poderíamos deixar de salientar que essa iniciativa de pesquisa
está inserida em um contexto mais amplo de protagonismo indígena na Bahia, com a
entrada de indígenas em espaços da política institucionalizada e da academia.
13 Em relação ao conteúdo do artigo, abordamos o formato dos programas e ações que
apresentam os povos indígenas como seus beneficiários. Analisamos arenas e atores
envolvidos na formulação e implementação da política indigenista – com destaque para
a dinâmica de funcionamento e articulação das suas estruturas específicas –, com o
objetivo de identificar o seu lugar institucional e administrativo no âmbito do aparato
estatal. Por fim, fazemos algumas considerações sobre as implicações do desenho da
política indigenista no estado da Bahia.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
76
Ações para povos indígenas na agenda do governo
estadual
14 Com a eleição de Jaques Wagner (Partido dos Trabalhadores), em 2006, para Governador
do estado da Bahia6, a temática indigenista passa a compor o cenário político de forma
mais significativa. Durante o processo eleitoral, algumas lideranças indígenas – que
consideravam o candidato como um aliado político – empenharam-se para inserir suas
demandas na agenda de governo do futuro governador. Este se comprometeu, em carta
aberta, com a criação de um órgão específico e com a introdução das questões indígenas
no seu governo.
15 Ao realizar um balanço desses seis anos de governo, nossa pesquisa indica que a política
indigenista estadual pode ser caracterizada pela criação de estruturas específicas e pela
inserção de ações para os povos indígenas em secretarias de governo que não possuem
programas ou coordenações específicas. Entretanto, não há no estado da Bahia um
instrumento legal que normatize e estabeleça uma política estadual para povos
indígenas, com diretrizes, programas, metas e orçamento próprio. As ações para povos
indígenas estão contidas em dois instrumentos de planejamento governamental, o
Plano Plurianual da Administração Pública Estadual (PPA) e o Plano de Trabalho
Operativo (PTO).
16 O Plano Plurianual da Administração Pública Estadual (PPA) 2008-2011 está organizado
em vinte diretrizes estratégicas, dentro das quais estão elencadas as metas, os
programas e ações de governo para esse período, bem como estão discriminadas as
despesas e secretarias envolvidas7. As ações para os povos indígenas estão inseridas em
cinco diretrizes estratégicas, quais sejam: 1) promover o desenvolvimento com inclusão
social; 2) garantir educação pública de qualidade, comprometida com as demandas de
aprendizagem do cidadão; 3) desenvolver a infraestrutura social (habitação,
saneamento e energia); 4) preservar e recuperar o meio ambiente e sua
sustentabilidade; 5) promover políticas de igualdade e de direitos humanos, com foco
em etnia e gênero.
17 Além do PPA, o Plano de Trabalho Operativo (PTO) é um documento de referência que
sistematiza as ações indigenistas em andamento ou a serem desenvolvidas pelo governo
do estado da Bahia8. O plano foi uma proposição da Coordenação de Políticas para Povos
Indígenas (CPPI) ao constatar que as secretarias de governo apresentavam poucas ações
voltadas a esse público. Além de identificar o que já estava sendo desenvolvido, a
pactuação de um plano intersetorial também teve a função de pressionar outros órgãos
para a inclusão de ações indigenistas em suas agendas.
18 As ações elencadas no PTO estavam previstas para serem implementadas no ano de
2010. Todavia, houve a necessidade de repactuação do plano em outubro de 2011. Ainda
em 2013, o PTO 2010 não foi inteiramente executado, mas já se discute a elaboração de
um novo plano, que reformulará o antigo, acrescentando novas ações 9. O PTO Indígena
continua sendo a maior referência para os gestores públicos quando se trata de ações
indigenistas no governo da Bahia e é utilizado, pelas lideranças indígenas, como um
importante instrumento de pressão e cobrança. Ele oferece um guia para situar a
política indigenista no aparato estatal, bem como para identificar as agências
envolvidas na construção da política, além das áreas priorizadas.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
77
19 A partir da análise do PPA 2008-2011 e do PTO Indígena, constata-se que as ações
direcionadas a povos indígenas envolvem diversos setores da Administração Pública
estadual na promoção de políticas sociais relacionadas à habitação, saneamento, saúde,
educação, assistência social, inclusão produtiva, meio-ambiente, cultura e direitos
humanos. No entanto, grande parte das ações não é inovadora e/ou específica, no
sentido de criar políticas públicas próprias para a realidade indígena. De forma mais
expressiva, o governo da Bahia apresenta uma proposta de incorporação desse público
em programas mais gerais que contemplem as áreas acima mencionadas. Alguns destes,
sobretudo na área de combate à extrema pobreza, são descentralizados do Governo
Federal e executados por estados e municípios.10
20 Diante desse quadro e dada a multiplicidade de atores e arenas envolvidos, posto que
diversas secretarias tornam-se responsáveis pela promoção da política indigenista, o
desenho desta revela um potencial fragmentador. Aliado a isso, nota-se a ausência de
incentivos institucionais para sua efetivação – não há o estabelecimento de recortes e/
ou recursos específicos, bem como não há uma “cota de inclusão” para esse público nos
programas de governo de uma forma geral. Verifica-se ainda que não há
disponibilização de pessoal especializado para trabalhar especificamente com povos
indígenas. Também não foram constatadas, durante o período da pesquisa, ações de
qualificação dos técnicos e gestores sobre a especificidade do público alvo, nem mesmo
para os servidores nas estruturas específicas da política.
21 Nota-se que a política indigenista estadual tem como característica a transversalização
da temática indígena nas ações setoriais do estado, já que foram constatadas poucas
ações específicas e nenhuma ação integrada entre os setores. No entanto, essa dinâmica
de transversalização não está condicionada por um desenho institucional que forneça
incentivos para a inclusão desse público, tanto para a responsabilização das agências
quanto para a cooperação intersetorial.
22 A orientação de que ações preexistentes incluam os povos indígenas entre seu público,
sem que haja uma responsabilização sobre a política – nem entre esferas de governo,
nem dentro do estado –, concorre para a pulverização da política entre diversos setores
da administração pública que não consideram a política indigenista como ação
estratégica ou prioritária. As estratégias transversais vêm sendo utilizadas para diluir
responsabilidades, já que o desempenho da política – o fracasso ou sucesso – seria
atribuído aos diversos atores e a nenhum, especificamente.
23 Essa pulverização da política, além de complexificar o desenho institucional, torna-a de
difícil entendimento tanto para os gestores quanto para os povos indígenas, já que, ao
não estabelecer competências efetivas, multiplica os decisores que atuam como
potenciais veto players11.
24 Apesar desse quadro, constatamos que algumas secretarias conseguem realizar ações.
Diante disso, aventamos a hipótese de que o sucesso na realização de ações voltadas ao
público indígena depende muito mais do empenho e barganha individual de políticos e
burocratas, do que de regras e procedimentos institucionalizados. Em especial, é
necessário observar como os atores indígenas atuam nas estruturas específicas.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
78
O funcionamento e articulação das estruturas
específicas da política
25 Neste texto, consideramos como estruturas específicas da política indigenista os órgãos
que têm como competência regimental, exclusiva ou prioritária, a construção de
políticas para povos indígenas. No governo da Bahia, durante o período analisado,
foram identificadas duas coordenações para povos e comunidades tradicionais; e duas
coordenações voltadas exclusivamente para povos indígenas: Coordenação de Políticas
para Povos Indígenas (CPPI), na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e
Coordenação de Educação Escolar Indígena (CEEI), na Secretaria de Educação. E dois
órgãos colegiados, i.e., o Conselho dos Direitos dos Povos Indígenas da Bahia (COPIBA) e
o Grupo Executivo Intersetorial para povos indígenas (GEI – Povos Indígenas) 12.
26 Constatamos que a Coordenação de Políticas para Povos Indígenas opera como
estrutura central da política13. A CPPI se constitui enquanto uma instância de mediação,
legitimação, de canalização de demandas e de coordenação, acompanhamento,
fiscalização e até mesmo de avaliação e proposição da política para povos indígenas em
todo o governo da Bahia. Devido à sua atuação e à percepção generalizada de que esta
Agência é o órgão central da política, tanto as lideranças indígenas quanto os gestores
de outros órgãos buscam-na para tratar das políticas indigenistas. 14 Isso se reflete na
dinâmica de funcionamento do órgão, cujos funcionários se organizam por grupo de
secretarias para acompanhar o andamento das ações para povos indígenas, no governo.
27 A CPPI possui grande porosidade em relação ao seu público alvo. É comum a presença e
circulação das lideranças indígenas no seu espaço físico, que o utilizam para elaborar
ofícios, fazer reuniões, efetuar ligações telefônicas para articular ações conjuntas dos
povos indígenas da Bahia e organizar eventos do movimento indígena. As lideranças
enxergam na Coordenação um espaço de interlocução, dada a percepção sobre o
coordenador como um dos seus pares – um indígena do povo Pataxó com um histórico
de atuação no movimento indígena – e sentem-se à vontade para explicitar os
problemas vivenciados pelas suas comunidades e discutir possíveis soluções.
28 Geralmente é a CPPI que acolhe as demandas pontuais das lideranças indígenas. Dentro
desse espaço, as questões apresentadas são discutidas entre o coordenador e as
lideranças e, então, são formalmente encaminhadas aos órgãos competentes,
observando-se a natureza setorial da demanda. Desse modo, a Coordenação atua
também em uma função de tradução para a lógica procedimental da Administração
Pública, já que, geralmente, as lideranças indígenas encaminham seus problemas e a
Coordenação os ‘traduz’ em demandas diretas, com a linguagem usual da burocracia
estatal e a partir da sua lógica organizacional.
29 Ela também articula reuniões entre lideranças indígenas e representantes dos outros
órgãos governamentais para discutir as demandas apresentadas. Além de encaminhar
as demandas, acompanha-as, preocupada tanto em sugerir caminhos para a resolução
dos problemas, quanto em pressionar os outros órgãos para atender aos pleitos.
Acontece também o caminho inverso: quando os órgãos desejam convocar a
participação indígena, informar e divulgar suas ações, ou mesmo legitimar sua atuação
com os povos indígenas, esses entram em contato com a CPPI para que ela articule e
comunique as informações para as lideranças indígenas.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
79
30 No entanto, essa agência que, efetivamente, se incumbe da função de coordenação da
política indigenista no governo da Bahia, não tem capacidade institucional para afetar
as decisões dos outros atores individuais ou coletivos implicados na formulação e
implementação desta política. Capacidade institucional aqui entendida enquanto “[
. . . ] incentivos que aumentem os estímulos para a cooperação e a formulação e
implementação sustentada das decisões governamentais.” (Souza, Carvalho 1999: 188).
Ou seja, a CPPI não possui capacidade de decidir e implementar suas decisões.
31 E não o tem por constituir uma Coordenação de terceiro escalão, subordinada a duas
instâncias dentro da SJCDH. Como um ente de terceiro grau na Administração Pública,
não está previsto desempenhar o papel de exigir cumprimento das outras Secretarias.
Além disso, quando há divergências em torno de alguma questão, dado o seu reduzido
poder de barganha, ela procura dialogar com outras Secretarias antes de qualquer
tentativa de enfrentamento, acionando e requisitando a intervenção da Secretaria de
Relações Institucionais e, em último caso, da Casa Civil.
32 Desse modo, a CPPI atua, de fato, como um órgão meio, na tentativa de introduzir a
temática indígena nos espaços setoriais da política. Porém, a posição que ocupa em
relação às outras instâncias – relação lateral ou mesmo de subordinação –, limita sua
capacidade de coordenação. Apesar de regimentalmente também possuir a função de
execução, ela detém baixa capacidade administrativa para atuar nessa etapa, em face
dos escassos recursos orçamentários e de pessoal, além das limitações da esfera de
competência da própria secretaria na qual está alocada.
33 Outras estruturas da política, tais como a Coordenação para Povos e Comunidades
Tradicionais (CPCT)15 e a Coordenação de Educação Escolar Indígena 16, possuem uma
dinâmica semelhante, contando também com representação indígena na ocupação de
cargos. Elas também funcionam como canais de articulação, além de possuir função
executora no âmbito restrito das suas secretarias. Essas coordenações recebem
demandas diretamente encaminhadas pelas lideranças indígenas ou pela CPPI e
encaminham-nas aos setores competentes dentro das suas respectivas secretarias, de
acordo com a área da política, realizando o acompanhamento.
34 No entanto, diferentemente da CPPI, essas duas coordenações não existem oficialmente.
A Coordenação para Povos e Comunidades Tradicionais é composta pela equipe
responsável pela implementação do Programa de Sustentabilidade de Povos e
Comunidades Tradicionais, porém não consta do regimento interno da Secretaria,
tampouco em outro documento normativo17.
35 Do mesmo modo, no regimento interno da Secretaria da Educação e no seu
organograma oficial, não constam a separação entre a Coordenação de Educação
Escolar Indígena e a Coordenação de Educação do Campo, nem foram encontrados
normativos que instituam oficialmente a CEEI, apesar dessa nomeação haver sido
identificada em documentos internos e externos à Secretaria18.
36 Nesse sentido, observa-se a baixa institucionalidade das coordenações específicas da
política. Elas – notadamente a CPPI – extrapolam suas competências e claramente
assumem funções de outros órgãos na tentativa de viabilização da política indigenista.
Porém, localizadas na base da hierarquia da Administração Pública, em espaços
extremamente porosos às demandas dos povos indígenas, não têm acesso aos núcleos
decisórios de governo, atuando como filtros das demandas indígenas.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
80
37 A Coordenação de Educação formula o planejamento que envolve toda a política de
educação indígena da Bahia – incluídas as escolas indígenas municipais – que, após
aprovação pelas instâncias superiores da Secretaria Estadual de Educação, é enviado ao
Ministério da Educação (MEC). Este, após fazer avaliação do planejamento, encaminha-o
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que também avalia os projetos e
repassa o orçamento diretamente para a Secretaria Estadual da Educação ou para as
escolas, de acordo com as ações previstas no planejamento. Na fase de implementação
os recursos são distribuídos segundo os setores de execução dentro da Secretaria
Estadual de Educação.
38 Assim, a coordenação estadual torna-se dependente da cooperação dos outros setores,
dentro e fora da Secretaria, para a implementação dos seus projetos. Essas instâncias
muitas vezes não participaram da fase de planejamento das ações. Na etapa de
implementação, cabe à CEEI o acompanhamento das ações – dos projetos que ela não
executa diretamente –, tanto para convencimento dos outros gestores a executarem,
prioritariamente, aquelas ações, quanto para verificar se a execução se dá do modo
como foi planejada, tentando convencê-los a aderir aos projetos da coordenação.
39 Já a CPCT-SEDES, na coordenação do Programa de Desenvolvimento Sustentável de
Povos e Comunidades Tradicionais, estabelece uma relação direta com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Essa articulação, em tese, deveria
proporcionar uma maior capacidade administrativa para a implementação das ações, já
que envolve a cooperação técnica de um organismo internacional. No entanto, as ações
do Programa se restringem ao levantamento de dados através da realização de
diagnósticos sobre povos e comunidades tradicionais no estado da Bahia. As ações
finalísticas da política são competência de outros setores dentro da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza. Assim, a Coordenação para Povos e
Comunidades Tradicionais atua no acompanhamento e cobrança das coordenações de
outros programas no âmbito da SEDES, com a missão de incluir os povos tradicionais
como beneficiários, na fase de implementação, dos programas de combate à pobreza, do
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
40 Nota-se, assim, que a transversalização da política indigenista é coordenada por atores
indígenas localizados em instâncias pouco relevantes institucionalmente. Esses atores
atuam, individualmente, através da sensibilização de gestores e burocratas envolvidos
na etapa de implementação de outros programas que não foram formulados,
especificamente, para a população indígena. A implementação pode ser entendida,
assim, como um processo autônomo, no âmbito do qual, decisões são tomadas
(Lindblom 1981). A baixa institucionalidade da política aumenta o grau de
discricionariedade dos agentes implementadores. Ao mesmo tempo em que essa
liberdade pode ser entendida como um processo criativo que possibilita uma maior
flexibilidade para a adequação dos programas aos padrões socioculturais indígenas, o
convencimento e a adesão dos agentes implementadores, que, em geral, desconhecem a
realidade das sociedades indígenas, torna-se variável crucial para o desempenho da
política indigenista.
41 Em uma arena não institucionalizada, os gestores das coordenações sinalizam para
alguns desafios dessa dinâmica de articulação com outros setores, interna e
externamente às suas respectivas Secretarias, tais como a dificuldade de convencer os
coordenadores de outros programas, e seus superiores, a incluírem os povos indígenas
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
81
como seus beneficiários, e de justificar a necessidade do tratamento diferenciado,
inclusive frente à Procuradoria Geral do Estado (PGE).
42 Os arranjos de coordenação da política indigenista envolvem, vale lembrar, além das
coordenações específicas, os órgãos colegiados criados para promover o alinhamento
horizontal. No entanto, observa-se a falta de efetividade destes últimos. O Conselho
Estadual dos Direitos dos Povos Indígenas – uma instância consultiva criada em 2010
com as finalidades de “propor diretrizes, acompanhar, fiscalizar e avaliar” as políticas
para os Povos Indígenas no governo da Bahia –, seria o canal institucional de
vocalização das demandas e participação indígena na deliberação da política
indigenista no Governo da Bahia. No entanto, apresenta graves problemas de
funcionamento que envolvem a falta de capacidade institucional para a viabilização
desde reuniões até dos encaminhamento das deliberações realizadas. Nota-se, desse
modo, que o Conselho possui uma posição marginalizada dentro do aparato estatal.
43 O responsável pela organização e financiamento do Conselho é a Secretaria de Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos, que o coordena. A responsabilidade sobre a sua
coordenação recai sobre a CPPI, que é compelida a dividir seus escassos recursos,
financeiros e de pessoal, entre as atividades já elencadas e a operacionalização das
atividades do órgão colegiado.
44 O Conselho começou a funcionar em 2010, sendo que a sua primeira reunião data de 1º
de julho deste ano. A proposta aprovada em plenária era que se reunisse mensalmente,
mas é constante o reagendamento das reuniões19. O COPIBA é uma instância que sofre
de vários problemas estruturais: em três anos de funcionamento o seu regimento
interno ainda não foi publicado, poucas reuniões possuem atas completas – tivemos que
nos valer das gravações das reuniões, em áudio –, e há grande rotatividade dos
representantes de governo e constantes ausências. Assim sendo, o COPIBA ainda é uma
instância muito frágil e não se apresenta como um espaço relevante de deliberação
sobre a política indigenista.
45 Outro órgão que teve dificuldades de funcionamento durante sua existência foi o Grupo
Executivo Intersetorial – Povos Indígenas20, que também era coordenado pela SJCDH/
CPPI. O GEI consistia em um projeto interessante para pensar ações conjuntas e propor
caminhos para a resolução de problemas ligados à coerência e integração da política
indigenista, conforme a sua proposta de funcionamento como uma ferramenta para a
implementação desta política com um caráter transversal e intersetorial. Pensado como
um grupo técnico, esta instância consultiva apresentava entre suas competências a
produção de “relatórios e documentos sobre as intervenções necessárias para aumentar
a eficiência e eficácia dos resultados dos projetos, ações e atividades dirigidas aos Povos
Indígenas”, além de “identificar as responsabilidades para cada ação, prazos, recursos
orçamentários, metas de execução e mecanismos de acompanhamento na programação
do PPA 2008/2011”. No entanto, há indícios de que o grupo não alcançou resultados
satisfatórios. Uma primeira observação é que a Secretaria de Planejamento não
integrava o GEI, o que seria de suma importância em se tratando de matérias que
envolviam orçamento, planejamento estratégico, acompanhamento do PPA, e ações de
um conjunto significativo de secretarias.
46 Nas entrevistas que realizamos com membros do GEI, foi relatado que os representantes
que participavam das reuniões do grupo muitas vezes não tinham conhecimento sobre
a política indigenista, ou mesmo não eram autorizados a tomar decisões pelas suas
respectivas secretarias. Assim, o grupo não conseguiu alcançar o objetivo de constituir
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
82
um espaço técnico para resolução de problemas relacionados à coerência e consistência
da política. Após seu prazo de término, no final do ano de 2011, o GEI não foi
repactuado.
47 O arranjo de coordenação sob a modalidade colegiada, materializado nas duas
instâncias – COPIBA e GEI – representa uma possibilidade de minimizar o quadro
fragmentário do desenho da política, na tentativa de criar políticas integradas e em
consonância com as demandas dos grupos indígenas. Todavia, ambas possuem funções
apenas consultivas, não se constituindo, portanto, enquanto arenas decisórias da
política. Além disso, devido à fragilidade destas instâncias e à posição marginalizada
que ocupam, não são espaços cruciais para a elaboração da política, que continua sendo
definida, setorialmente, nas arenas hierarquizadas das secretarias de estado.
Considerações sobre as implicações do desenho
institucional da política indigenista
48 Um dos desafios para a viabilização da política indigenista é a sua baixa
institucionalidade no plano estadual, tal como já referido. Nota-se a falta de
regulamentação dos normativos federais e a ausência de marcos legais definidores da
política no estado da Bahia. O caráter redistributivo da política indigenista torna mais
difícil e onerosa a sua institucionalização, dada a fragilidade do grupo indígena em
atuar enquanto um grupo de pressão organizado, com capacidade de provocar
modificações nas instituições e garantir um tratamento diferenciado, nos planos
estadual e local. A estratégia adotada pelo governo estadual foi a de transformar a
política em distributiva, atendendo, pontualmente, certas demandas dos grupos
indígenas e incluindo-os em algumas políticas mais gerais no processo de
implementação. Isso minimizou o grau de conflito e de contestação de grupos que se
sentissem lesados, ao diminuir a visibilidade dessas ações. Além de reduzir a
intensidade da pressão dos próprios grupos indígenas ao criar canais de intermediação
de interesses21.
49 No entanto, essa estratégia causa uma situação controversa para os povos indígenas. Ao
mesmo tempo em que possibilita o acesso, mesmo que pontualmente, aos bens e
serviços prestados pelo governo, a falta de institucionalização da política indigenista
conduz a uma situação em que cada ação tem que ser negociada diretamente com
inúmeros atores individuais e coletivos, políticos e burocratas no nível de
implementação. Nesse sentido, a etapa de implementação dos programas de governo se
confunde com a formulação da política indigenista, já que é nesse momento que as
decisões são tomadas. Isso se torna visível quando observamos o papel e a dinâmica de
atuação dos atores indígenas dentro das estruturas específicas da política, notadamente
a sua agência central – a CPPI.
50 O desenho da política concorre, por sua vez, para a multiplicação de atores relevantes
envolvidos. Essa situação, aliada à falta de instituições claras e sem a introdução de
incentivos positivos e constrangimentos (no sentido de vantagens ou sanções),
potencializa a ação de veto players e torna a política extremamente pulverizada,
fragmentada e com altos custos de decisão. A descentralização das políticas sociais e a
introdução do município como ente executor, no caso específico dos povos indígenas,
são vistas como agravantes, trazendo mais pontos de veto para a sua inclusão, tendo em
vista que os governos locais possuem a prerrogativa de estabelecer suas próprias
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
83
agendas sociais (Arretche 2004). Dificilmente a questão indígena é inserida nas agendas
municipais e, de forma muito pontual, na agenda estadual 22.
51 Esse contexto resulta em uma política indigenista pautada na realização de ações
pontuais como resposta às pressões das lideranças indígenas e ação de alguns
funcionários de governo. Na maioria das vezes só há a inclusão dos povos indígenas nos
programas existentes mediante a pressão das lideranças indígenas que utilizam seus
recursos de mobilização para suscitar visibilidade para suas demandas. Estas apenas
conseguem impactar as agências na base, no processo de implementação.
52 Dada a trajetória quase que exclusivamente federal da política até muito recentemente,
os gestores estaduais não possuem a expertise para trabalhar com povos indígenas,
desconhecendo a legislação específica, a realidade das comunidades indígenas e, muitas
vezes, questionando que lhes seja dirigido um tratamento diferenciado. Os gestores
optam, muitas vezes, por “encaixá-los” nos programas governamentais mais gerais,
que, na maioria das vezes, não foram conformados aos seus padrões socioculturais.
Além disso, o modelo tradicional da administração pública departamentalizada e o
caráter isonômico da burocracia procedimental podem agir como empecilho para a
introdução de temáticas que requerem um tratamento diferenciado e intersetorial, tal
como se caracteriza a política indigenista.
53 A criação de estruturas específicas da política não representou, portanto, uma mudança
significativa no potencial fragmentador do desenho da política, posto que as novas
agências, que poderiam viabilizar a transversalidade e intersetorialidade da política,
tanto os órgãos colegiados quanto as coordenações, não possuem poder decisório
efetivo e os espaços hierárquicos das secretarias continuam sendo as arenas decisórias
da política. Mesmo enquanto instâncias de coordenação, essas agências não conseguem
ter comando sobre as ações dos outros atores envolvidos.
54 Às coordenações específicas, por outro lado, falta capacidade institucional e recursos
administrativos para realizar seu trabalho, sendo espaços extremamente fragilizados,
localizados na base da hierarquia da administração pública. A estratégia de criação
dessas agências resultou, na verdade, no surgimento de “guetos” da política, recaindo a
responsabilidade sobre ela nesses espaços, que não possuem condições mínimas de
atuação e servem como canais de legitimação e recepção dos impactos das pressões
advindas dos grupos indígenas.
55 Nota-se, desse modo, o “veto implícito” à concretização dessa política – nos termos de
Menicucci (2007) – por parte do governo estadual. A política indigenista não se mostra
estratégica e nem prioritária para o governo ou para a burocracia estadual, e ambos
depositam a responsabilidade sobre a mesma à esfera federal. O que reflete a condição
de ‘vácuo institucional’ da política indigenista, no que parece ser uma etapa de
transição entre um modelo extremamente centralizado em uma agência federal para
um modelo transversal e intersetorial. A falta de um contorno nítido caracteriza um
quadro de não política no governo da Bahia, que se pauta apenas nas orientações do
governo federal em algumas ações, sem que institua mecanismos efetivos para a sua
viabilização política, fiscal e administrativa.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
84
Considerações finais
56 Com o processo de descentralização das políticas sociais e desmonte do padrão
centralizado na agência indigenista e a partir da intervenção e negociação de lideranças
indígenas, as questões indigenistas passam a ser inseridas na agenda do governo
estadual. Essa incorporação se desenvolveu, essencialmente, por dois meios. Pela
instituição de espaços próprios para a viabilização administrativa da política,
preenchidos pela criação de cargos específicos para a representação indígena dentro do
governo, e pela tentativa de transversalização da agenda indigenista em espaços não
específicos. Ambas dinâmicas estão interligadas, já que, diante da dificuldade de
inclusão dessa nova temática, os representantes indígenas nas estruturas específicas
passam a agir enquanto coordenadores e articuladores da política no nível estadual.
57 A política indigenista no estado da Bahia pode ser caracterizada, pois, a partir da
associação de: a) um desenho institucional potencialmente fragmentador: visualizado
na pulverização das arenas decisórias, multiplicação de pontos de veto e na dinâmica de
transversalização nas etapas de implementação, o que concorre para a diluição da
política indigenista em diversos órgãos; b) a ausência de incentivos e constrangimentos
institucionais para a cooperação: baixa institucionalidade da política; ausência de
regras específicas para responsabilização das agências; dificuldade de conformar as
metas da política indigenista às ações estratégicas de cada setor e agência; c) baixa
efetividade dos mecanismos de coordenação: órgãos colegiados frágeis e instâncias de
coordenação sem capacidade institucional para decidir e implementar suas decisões.
58 Nesse sentido, concluímos que a ausência de mecanismos integradores de coordenação
e de incentivos acirra a dinâmica fragmentária do desenho institucional. Aliado a isso,
constata-se a natureza redistributiva da política e o perfil social e político dos grupos
indígenas, que apresentam dificuldades em se organizar enquanto um grupo de pressão
eficiente – no sentido de provocar modificações nas instituições existentes que os
posicionam em situação de desvantagem. Na sua operacionalização, a política foi
transformada em distributiva, através da atuação da burocracia nas estruturas
específicas, na etapa de implementação, atendendo, pontualmente, demandas de
lideranças e grupos indígenas, pois estes só conseguem alcançar os canais de inserção
do aparelho do Estado nas instâncias de execução, mas não no processo de elaboração
de políticas públicas.
BIBLIOGRAFIA
Arretche, Marta. 2004. “Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e
autonomia.” São Paulo em Perspectiva 18(2): 17-26.
Bahia. 2009. Povos indígenas e governo da Bahia: recomendações para uma política pública de respeito e
inclusão. Salvador, BA: CPPI/SJCDH.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
85
Frey, Klaus. 2000. “Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da
análise de políticas públicas no Brasil.” Planejamento e Políticas Públicas 1(21): 211-259.
Lindblom, Charles Edward. 1981. O processo de decisão política. Brasília, DF: Editora UNB.
Menicucci, Telma. 2007. “A implementação da reforma sanitária: a formação de uma política.” Pp.
303-325 in Políticas Públicas no Brasil, organizado por E. Marques, G. Hochman, M. Arretche. Rio de
Janeiro, RJ: Editora FIOCRUZ.
Hall, Peter A., Taylor, Rosemary C. R. 2003. “As três versões do neo-institucionalismo.” Revista Lua
Nova 1(58): 193-224.
Silva, Luiz Fernando Villares. 2008. Coletânea da Legislação Indigenista Brasileira. Brasília, DF: CGDTI
/ FUNAI.
Souza, Celina. 2004. “Governos locais e gestão de políticas sociais universais.” São Paulo em
Perspectiva, 18(2): 27-41.
_____. 2007. “Estado da arte da pesquisa em políticas públicas.” in Políticas Públicas no Brasil,
organizado por E. Marques, G. Hochman, M. Arretche. Rio de Janeiro, RJ: Editora FIOCRUZ.
_____. Inaiá, M. M. de Carvalho. 1999. “Reforma do estado, descentralização e desigualdades.” Lua
Nova 1(48): 187-212.
Tsebelis, G. 1995. “Processo decisório em sistemas políticos: veto players no presidencialismo,
parlamentarismo, multicameralismo e pluripartidarismo.” Revista Brasileira de Ciências Sociais
12(34): 89-117.
NOTAS
1. A coletânea organizada por Luiz Fernando Villares Silva (2008) contém uma compilação da
legislação indigenista brasileira.
2. As políticas de regularização fundiária com a demarcação de terras, e de fiscalização dos
territórios indígenas, e as políticas de saúde indígena continuam sendo iniciativas do governo
federal, portanto os governos estaduais não estão diretamente implicados na cena.
3. No âmbito do governo federal foram analisados os Planos Plurianuais (PPAs) de 2000-2003;
2004-2007 e 2008-2011. Além das Leis Orçamentárias Anuais (LOA), desde o ano de 2002 a 2012. Na
esfera estadual foram analisados o PPA 2008-2011 e o Plano de Trabalho Operativo – Povos
Indígenas, de 2010.
4. As entrevistas foram realizadas com seis gestores de programas, quatro servidores dirigentes
de coordenações e cinco técnicos nos seguintes órgãos estaduais: Secretaria de Justiça Cidadania
e Direitos Humanos (SJCDH), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza
(SEDES), Secretaria Estadual de Educação (SEC), Secretaria Estadual de Agricultura, Irrigação e
Reforma Agrária (SEAGRI), Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH),
Secretaria Estadual de Promoção à Igualdade (SEPROMI). Elas também foram produzidas com
lideranças indígenas do Movimento Unificado dos Povos Indígenas da Bahia (MUPOIBA),
representantes no Conselho dos Direitos dos Povos Indígenas da Bahia (COPIBA), no Fórum
Estadual de Educação Indígena da Bahia (FORUMEIBA) e na Comissão Gestora do Território
Etnoeducacional Yby-Yara (TEe).
5. Inclusive o papel de alguns deputados estaduais e federais que não havia sido considerado
inicialmente. No entanto, o Legislativo não foi analisado neste texto, já que nos concentramos nas
agências do Executivo estadual. Mas sinalizamos para a importância de pesquisas que analisem a
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
86
atuação de atores legislativos, inclusive na conformação das agências específicas no âmbito do
Poder Executivo.
6. Eleito em 2006, Wagner exerceu seu primeiro mandato até o ano de 2010, quando foi reeleito.
Atualmente está no exercício do seu segundo mandato.
7. O PPA discrimina o orçamento previsto para os Programas e não para as ações. Como as ações
para povos indígenas estão dentro de programas mais gerais, não há como identificar o
orçamento indigenista estadual tendo como fonte o PPA.
8. Foi o único plano indigenista elaborado na primeira gestão de Jaques Wagner. Ele foi
sistematizado pela Coordenação de Políticas para Povos Indígenas e elaborado com informações
das 14 secretarias que compuseram o Grupo Executivo Intersetorial – Povos Indígenas (GEI), com
base no PPA 2008-2011 e nas demandas dos povos indígenas durante esse período. Treze
secretarias elencam ações no PTO 2010. Todas compunham o GEI – Povos Indígenas, sendo que a
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte é a única integrante do Grupo que não possui
ações no plano.
9. Não detalhamos a execução das ações, por fugir ao escopo deste artigo.
10. Em 2011, o Governo Federal lança o “Plano Brasil sem Miséria” que tem três eixos principais:
renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos. Esse plano agrupa diversos programas,
preexistentes de transferência direta de renda, de fornecimento de água e energia elétrica, de
habitação e de inclusão social e produtiva.
11. Caracterizado como “[ . . . ] um ator individual ou coletivo cuja concordância é necessária
para que se tome uma decisão política.” (Tsebelis 1995: 96). Ou seja, multiplica-se a quantidade de
atores que podem vetar ações direcionadas aos povos indígenas, aumentando o custo de
transação para a institucionalização dessa política.
12. Outras secretarias, que não possuem programas ou coordenações específicas, elencam ações
para povos indígenas. É o caso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), Secretaria de
Infra-estrutura (SEINFRA), Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH),
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Secretaria de Segurança Pública (SSP),
Secretaria de Saúde do Estado Bahia (SESAB), e, mais notadamente, a Secretaria de
Desenvolvimento e Integração Regional (SEDIR), através da Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional (CAR). Além disso, a Secretaria de Relações Institucionais (SERIN) e a Casa Civil têm
a função de articular e acompanhar a política dentro do governo, mas sem que haja espaços ou
pessoal voltados, especificamente, para o acompanhamento da política indigenista.
13. Ela foi instituída em 2007 e posicionada na estrutura da Secretaria de Justiça, Cidadania e
Direitos Humanos (SJCDH), no âmbito da Superintendência de Apoio e Defesa aos Direitos
Humanos. Esta coordenação foi criada a partir de demanda de lideranças indígenas durante a
campanha eleitoral do atual governador, que se comprometeu, em uma carta aberta, a instituir
um espaço próprio no governo do estado para trabalhar, exclusivamente, com a política
indigenista, além de acolher a reivindicação de nomear um representante indígena para o cargo
de coordenador. Essa coordenação possui a função de “[ . . . ] subsidiar a implementação de ações
e atividades voltadas para os povos indígenas”, além de “[ . . .] funcionar como um canal
permanente de articulação entre as lideranças legítimas dos povos e das organizações indígenas e
os órgãos do poder público” (Bahia 2009: 5).
14. Em todas as ocasiões em que me dirigi aos gestores públicos, explicando o tema da pesquisa e
demandando informações a respeito das ações indigenistas de governo, estes se reportavam à
CPPI, quando não me orientavam a procurar o coordenador de políticas para povos indígenas.
15. Localizada na estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza
(SEDES), mais especificamente na Superintendência de Inclusão Produtiva e Segurança
Alimentar, e subordinada à Coordenação de Programas Especiais.
16. A CEEI está alocada na Diretoria de Inclusão e Diversidade, Superintendência de
Desenvolvimento da Educação Básica e tem a função de coordenar a construção das diretrizes
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
87
curriculares do ensino intercultural e bilíngue, entendido como modalidade de ensino na Bahia.
Assume ainda ações de produção de material didático e formação de professores indígenas.
17. A partir de 2010, com a mudança nos cargos de coordenação e de gestão do programa, passou-
se a denominá-la de CPCT, ao invés de PPCT – sigla do programa –, e a expandir a atuação dessa
estrutura. Nos documentos internos e mesmo externos à Secretaria, passou-se a tratá-la como
Coordenação e a considerá-la como um espaço maior de promoção e acompanhamento das
políticas para povos e comunidades tradicionais dentro e, em menor proporção, fora da
Secretaria. O Programa de Sustentabilidade de Povos e Comunidades Tradicionais passou a ser
uma ação da coordenação que, à época da pesquisa, contava com um quadro de três funcionários,
sendo apenas um servidor efetivo do estado.
18. Regimentalmente existe a Coordenação de Educação Indígena e do Campo desde 2001. A
coordenação indígena, partir de 2007, se autonomizou em relação à Coordenação do Campo e
passou a ser dirigida por uma indígena Tuxá.
19. No ano de 2010, o COPIBA se reuniu em março e só foi se reunir novamente em novembro. No
ano de 2012 apenas uma reunião foi realizada até o mês de junho.
20. Instituído no final do ano de 2007 com prazo de término até o final do ano de 2011, foi fruto
de uma proposta encaminhada pela CPPI. Formado por 14 secretarias do estado – sendo a
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos responsável pela coordenação –, o GEI foi
criado com o objetivo de propor a execução de ações integradas voltadas para os Povos Indígenas,
no âmbito do Governo do estado da Bahia. Os registros das atividades do GEI são difíceis de
localização, devido, principalmente, à dinâmica de elaboração e conservação da memória do
grupo, que a cada reunião ficava na responsabilidade de um participante diferente. A falta de
material sobre as reuniões dificultou a análise do seu funcionamento. Baseamo-nos, para elaborar
considerações a respeito da dinâmica do grupo, em informações obtidas através de entrevistas e
conversas com gestores que participaram das suas reuniões.
21. Lowi (1972 apud Frey 2000: 223) introduz o conceito de “policy arena”, a partir da premissa de
que o processo político se configura a partir de expectativas dos atores em relação aos custos e
benefícios de determinadas decisões políticas. Nesse sentido, uma política redistributiva é
potencialmente conflituosa e polarizada devido aos ganhos de determinados grupos em
detrimento de outros.
22. Souza aponta para o fato de que os governos locais estão assumindo funções do governo
federal na promoção de algumas políticas sociais universais, enquanto que outras políticas se “[
. . . ] encontram em uma espécie de vazio governamental, seja por causa da política federal de
ajuste fiscal, seja porque o desenho da política a ser municipalizada não contemplou incentivos
capazes de estimular a adesão dos municípios” (2004: 34).
RESUMOS
No presente artigo abordaremos a política indigenista no governo da Bahia, caracterizando seu
modelo institucional, bem como os condicionantes deste sobre a interação dos atores políticos.
Mais detidamente, procuramos analisar como os atores indígenas estão institucionalmente
posicionados dentro do aparato estatal e limites e possibilidades do desenho da política
indigenista. A pesquisa foi realizada através de análise documental, entrevistas, além de pesquisa
de campo empreendida durante o ano de 2012. Apesar das modificações ocorridas nos últimos
anos e do protagonismo do movimento indígena, concluímos que a política indigenista
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
88
empreendida no estado não foi institucionalizada, no sentido da criação de regulamentos e
práticas específicas para o fornecimento de bens e serviços públicos voltados para as populações
indígenas. As lideranças e grupos indígenas só conseguem alcançar canais de inserção no
aparelho do Estado nas instâncias de execução e não no processo de formulação de políticas
públicas.
In this article we analyze the indigenous policy of the government of the Brazilian state of Bahia,
describing its institutional design as well as its constraints on interactions between political
actors. Further, we analyze how indigenous actors are institutionally positioned within the state
apparatus, and the limits and possibilities of the indigenous policy design. The research was
developed using documental analysis, interviews with strategic actors, as well as a field study
carried out in 2012. We conclude that, despite changes undertaken in recent years and the
achievements of the indigenous movement, the indigenous policy developed in Bahia state is still
not sufficiently institutionalized, in the sense of creating specific practices which would aim
towards a provision of public goods and services geared for indigenous peoples. As a
consequence, the state’s policies continue to be limited to restricted demands coming from
indigenous leaders, who can only act within the limited channels of the state administrative
apparatus, without being integrated in policy-decision processes.
ÍNDICE
Keywords: public policies, indigenous peoples, Government of Bahia
Palavras-chave: políticas públicas, povos indígenas, Governo do estado da Bahia
AUTOR
JÉSSICA TORRES COSTA E SILVA
Mestranda, e bolsista CNPq, no Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da Universidade
Federal da Bahia. Indígena do povo Xucuru-Kariri. Este texto foi escrito em estreita colaboração
com Carlos Rafael da Silva.
jessiktc@hotmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
89
Artigos
Articles
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
90
Manifestações barrocas: Jongo e
Folia no quilombo de Colônia do
Paiol
Baroque manifestations: “Jongo” and “Folia” in the quilombola community of
Colônia do Paiol
Carla Ladeira Pimentel Águas
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2013-02-08
Aceito em: 2013-04-05
Introdução
1 O barroco foi um tempo de mudanças. Ele foi uma reação às inconstâncias da sua época
– quando valores e comportamentos foram postos em causa, alteraram-se as estruturas
de classe, cresceram o banditismo, as revoltas, os motins: “É, de facto, uma época de
crise, mas é também uma época de transição para novos modos de sociabilidade”,
afirma Boaventura de Sousa Santos (2002: 332).
2 Muitos autores encontraram no ethos barroco uma inspiração para se pensar sobre os
nossos dias. Características transgressoras, tais como o excesso e a ambiguidade,
serviram de mote para a construção de análises acerca da atualidade. Partindo da
metáfora do barroco desenvolvida por Santos (2002), o objetivo deste artigo é refletir
sobre as celebrações existentes no quilombo de Colônia do Paiol, uma comunidade
afrodescendente situada no município de Bias Fortes, Estado de Minas Gerais.
3 O barroco é uma das três metáforas criadas por Boaventura de Sousa Santos (2002) para
descrever as subjetividades emergentes e emancipatórias. O autor afirma que o
pensamento crítico, para ser eficaz, tem que assumir uma posição paradigmática, a
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
91
partir de uma crítica radical do paradigma dominante. Segundo ele, vivemos um
momento de transição, cujos protagonistas são subjetividades individuais e coletivas
capazes de conceber e desejar alternativas sociais emancipatórias. Disposta a enfrentar
competições paradigmáticas com as forças hegemônicas, estas subjetividades devem ser
guiadas por três grandes topoi: a fronteira, o barroco e o Sul.
4 A fronteira representa formas de sociabilidade propícias ao diálogo: o termo deve ser
entendido como uma forma de sociabilidade e um local privilegiado para o encontro
com o outro, onde se desenrolam negociações e traduções interculturais. O topos do
barroco busca retratar uma subjetividade perplexa, dilemática e transgressora – em
última análise, uma subjetividade desestabilizadora (Santos 2006). Portanto, o que a
metáfora do barroco propõe não é a busca de legitimação de um poder decadente, mas
o seu lado subversivo; uma forma excêntrica de modernidade gerada a partir da
criatividade marginal. Já a metáfora do Sul busca representar o olhar desde as margens
– ou seja, a perspectiva política das periferias do sistema-mundo.
5 Dentre os inúmeros aspectos que compõem a metáfora do barroco, destaco neste artigo
as possibilidades de hibridismo, ambivalência e dissimulação que a caracterizam – a que
Bolívar Echeverría (1998) denominou como “opção pelo terceiro excluído”. Tais
aspectos parecem-me produtivos para se pensar em formas intersticiais de resistência
no contexto do Brasil escravista e no contexto quilombola. Estas vontades cifradas
(Toro 2009) lançaram mão da ambiguidade dos sentidos para criar saídas para a
sobrevivência. A ambivalência era, portanto, uma aliada.
6 Quanto ao termo “quilombo”, surgiu no âmbito da América colonial portuguesa, para
denominar comunidades negras compostas por homens e mulheres escravizados e seus
descendentes – que conseguiam escapar do sistema escravista ao formarem
coletividades paralelas às agruras da estrutura vigente. Portanto, era incluído no
vocabulário oficial para designar um território criminalizado, que fora alvo de duras
repressões.
7 Com o fim do sistema escravista, os quilombos mantiveram a sua lógica de existir,
enquanto espaços de resistência diante de uma sociedade construída a partir da
exclusão (Campos 2005). Porém, a palavra “quilombo” desapareceu da legislação
brasileira, para reaparecer cem anos depois da abolição da escravatura, em 1988. A
Constituição Federal promulgada naquele ano, através do Artigo 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), atribuiu aos habitantes daquelas
comunidades o direito sobre as terras que ocupavam.
8 A partir da promulgação da Constituição Federal, as especificidades étnico-culturais de
tais comunidades passaram a chamar a atenção dos investigadores, que concentraram-
se na formulação de novos conceitos. Em 1994, o Grupo de Trabalho sobre Terra de
Quilombo, realizado pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA), produziu um
documento no qual definia parâmetros para a atuação sobre o tema. Segundo o texto,
Contemporaneamente, […] o termo quilombo não se refere a resíduos ou resquícios
arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se
trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma
forma, nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou
rebelados mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas
cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida
característicos e na consolidação de um território próprio (ABA apud O’Dwyer 2002:
18-19).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
92
9 Para Bandeira e Sodré (1993), o quilombo da atualidade pode ser caracterizado como
grupo social de negros compartilhando relações sociais tipificadas a partir do uso
coletivo da terra, fundado nos princípios do igualitarismo e da reciprocidade,
caracterizado por afiliação de cor, laços de parentesco, localidade e práticas culturais.
Ilka Boaventura Leite enfoca o quilombo “como conceito sócio-antropológico para
discutir suas atuais implicações teóricas e políticas, principalmente no que diz respeito
ao quadro atual de exclusão social do Brasil” (Leite 2000: 333).
10 Pesquisa realizada pelo Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (Cedefes) 1
aponta para a existência atual de cerca de 400 quilombos em Minas Gerais, distribuídos
por cerca de 150 municípios. Existem 128 processos de titulação das terras em
andamento no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), mas apenas
uma área efetivamente titulada, o quilombo Porto Corís.
11 No caso específico de Colônia do Paiol, comunidade situada no município de Bias Fortes,
na Zona da Mata mineira, abriga hoje cerca de 250 famílias e sua origem deve-se à
doação de terras feita pelo fazendeiro José Ribeiro Nunes no ano de 1891 a nove de seus
ex-escravos. Esta história permaneceu por muito tempo resguardada apenas pela
memória coletiva, até que, em 2005, o antropólogo Djalma Antônio da Silva localizou o
documento de doação no Arquivo Público do município de Barbacena (MG).
12 Cada família de Colônia do Paiol possuía uma parcela de terras para plantio. Porém, ao
longo do século XX, fazendeiros do entorno foram invadindo o território. De acordo
com Djalma Silva (2005), desde o início da doação, as terras eram cultivadas pela
comunidade, mas a produção era insuficiente para o sustento do grupo, que
multiplicou-se com o tempo. Premida num enclave e cercada por fazendas, a
comunidade foi confrontada por crescentes problemas de sustentabilidade.
13 A perda das terras e a falta de recursos desencadearam um forte êxodo dos habitantes
da comunidade para as periferias urbanas, especialmente para a sede de Bias Fortes e
para o município de Juiz de Fora, situado a 52 km. Dentre os que ficaram, muitos
homens passaram a realizar trabalhos agrícolas sazonais em outras regiões, nas
chamadas “turmas”, que são contratadas por fazendas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo.
14 Mas a migração não implicou necessariamente em desvinculação. Em termos gerais, o
êxodo rural, que se acelerou a partir da década de 1970,2 representou um incremento
econômico para os que saíram e para os parentes que permaneceram na comunidade.
Muitos dos que conseguem juntar algum dinheiro, optam por comprar terrenos e
voltam para o quilombo.
15 Quanto à educação, o acesso é difícil. As crianças frequentam o Ensino Fundamental,
mas, se quiserem dar prosseguimento aos estudos, precisam deslocar-se para o núcleo
urbano de Bias Fortes ou migrar. Duas mulheres de Colônia do Paiol conseguiram
ingressar no Ensino Superior, através de um curso particular de Pedagogia na
modalidade à distância, disponibilizado na sede do município.
16 A comunidade, cravada nas montanhas, é constituída hoje por algumas ruas, onde se
espalham casas de tijolos ou adobe. Muitas delas não são pintadas, mas cobertas por
barro – que confere belas tonalidades às paredes, variando entre o branco, o laranja e o
castanho. Os jovens que permanecem no quilombo erguem as casas nos espaços cedidos
pelos membros mais velhos da família, para constituírem os próprios núcleos
familiares.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
93
17 A partir da sua recente inclusão no movimento quilombola, Colônia vive hoje um
processo de reorganização interna, que passa pela busca de dinamização da associação
do quilombo, através de uma nova diretoria, e pela criação da Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário e São Benedito – que buscará envolver, inclusive, os membros já
migrados da comunidade. O processo de regularização das terras foi iniciado em 2004 e,
atualmente, o quilombo possui a certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares –
documento que antecede o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID).
18 Neste artigo, busco refletir sobre os caminhos de resistência tratados pela metáfora do
barroco, a partir de uma abordagem qualitativa e utilizando a observação direta e
entrevistas semiestruturadas como estratégias metodológicas. 3 Começo por realizar
uma breve análise sobre o contexto das comunidades quilombolas no Brasil, para a
seguir refletir sobre o barroco – especialmente acerca das suas ambivalências e
dissimulações. A partir deste aporte teórico, descrevo dois aspectos vivenciados pelo
quilombo de Colônia do Paiol: a tradição da Folia de Reis e a dança do Jongo.
O quilombo como espaço de resistência
19 A primeira definição formal de quilombo surgiu em 1740, através de uma consulta do
rei de Portugal ao Conselho Ultramarino: “Toda habitação de negros fugidos que
passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e
nem se achem pilões nele” (Almeida 2005: 102). Arruti observa que tal definição, que
aparecia tanto na legislação colonial quanto imperial, 4 assumia uma forma
explicitamente indefinida, com o objetivo de abarcar, sob um mesmo instrumento
repressivo, o maior número possível de situações:
O uso do termo [quilombo] nunca teve um interesse descritivo, mas, antes de tudo,
classificatório, delimitando um objeto que, na realidade, incluía diversas formações
sociais muito diferentes entre si. Enfim, o ‘quilombo’ é uma daquelas categorias
classificatórias que respondem à necessidade do Estado de produzir unidades
genéricas de classificação para a intervenção e controle social (Arruti 2006: 173).
20 A partir deste conceito inicial, encontramos alguns elementos que sobrevivem até hoje
no senso comum no que se refere à ideia de quilombo: a palavra vem associada à fuga e
ao isolamento. Porém, segundo Alfredo Wagner Berno de Almeida,
Ora, fuga, isolamento, quantidade mínima, podiam bem estar na cabeça de nossos
legisladores da Constituição de 1988, que imaginaram um instrumento excepcional,
restritivo e também algo isolado. Não imaginaram [os quilombos] dentro das
grandes propriedades, mas fora do alcance delas; quer dizer, fora da civilização
(Almeida 2005: 231).
21 Para o autor, muitas vezes a solidez da fronteira étnica se dava na transação comercial,
que é justamente o contrário de isolamento. Além disso, vários quilombos foram
erguidos nos arredores das cidades e frequentemente mantinham atividades comerciais
com outros grupos sociais. A comunicação era, aliás, uma especialidade de muitos deles,
ao ponto de serem criadas redes de solidariedade entre os quilombolas e outros
segmentos, movidas pelos interesses de cada um dos grupos – servindo, inclusive, como
teias de proteção para as comunidades.
22 Nessas redes, circulavam mercadorias e informações, principalmente. Em muitos casos,
as notícias “corriam” entre os diversos agrupamentos, viabilizando estratégias para
enfrentar os inimigos (Campos 2005). Além disso, os grupos fugidos articulavam-se com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
94
as populações escravizadas das senzalas para viabilizar novas fugas, abastecer o
quilombo e obter informações. Havia, inclusive, quilombos interligados como
federações, que formavam grupos interdependentes.
23 Segundo Campos (2005) a palavra “quilombo” era, na verdade, uma designação de fora.
No Brasil, os moradores destas comunidades preferiam chamá-las de “cerca” ou
“mocambo”. Especialmente no Maranhão, são também comuns as designações “terras
de preto”, “terras de índio” ou “terras de santo”.
24 Além disso, a existência de quilombos nunca foi privilégio do Brasil. Onde houvesse
negros escravizados, lá estavam eles. Nas colônias inglesas, estas comunidades foram
chamadas de marrons; nas francesas, grand marronage; nas espanholas, palenque e cumbes,
dentre outros exemplos.
25 Tão variadas quanto os nomes eram as suas origens. Os quilombos foram formados a
partir de diferentes formas de acesso à terra, sendo que a fuga de escravos é a mais
conhecida. Porém, muitos outros motivos poderiam originar uma comunidade: as
doações feitas pelos senhores ou pela Igreja; terras recebidas por serviços prestados em
períodos de guerra; fazendas abandonadas em função do declínio dos ciclos econômicos
e assim por diante.
26 Os quilombos originados da desagregação de fazendas – a que Almeida (2002a) designa
como campesinato pós-plantation – foram relativamente comuns na época do declínio
das culturas de açúcar e algodão, dois produtos cujos preços oscilavam muito no
mercado externo. Também era possível que um quilombo se originasse de ocupações
posteriores à desagregação de ordens religiosas – como no caso dos Jesuítas, expulsos
do Brasil pelo Marquês de Pombal em meados do século XVIII – e das desapropriações
em regiões de conflito. Segundo Benassar e Marin (2000), algumas províncias que
tinham poucos escravos optaram, inclusive, pela libertação antecipada dos cativos para
restabelecerem a calma, como foi o caso do Amazonas e do Ceará em 1884.
27 A maior destas manifestações foi, sem dúvida, o quilombo dos Palmares. 5 A discussão
sobre esta comunidade reaparece nos movimentos que antecederam ao golpe militar de
1964, para depois reemergir a partir da pressão social pós-ditadura, na fase de
redemocratização e no bojo dos movimentos sociais das décadas de 1970 e 80 (Leite
2004).6 Portanto, Palmares “entra para a história” graças às pressões políticas dos
movimentos sociais – viabilizando um lugar para Zumbi no panteão dos ícones
brasileiros e tornando a Serra da Barriga, local onde o quilombo foi instalado,
Património Histórico Nacional.
28 O quilombo dos Palmares foi o exemplo mais visível, mas o fato é que, enquanto houve
escravidão, existiram também tais comunidades, que frequentemente geravam medo
na classe senhorial e enfrentavam duras repressões militares. O relatório do presidente
da Província de Sergipe, escrito em 1876, ilustra este temor por parte das forças
dominantes: “São os calhambolas o terror da população do interior. Formando
quilombos diferentes, percorrem os engenhos que querem, penetram algumas vezes
disfarçados na cidade, roubam, fazem quanta violência entendem” (Arruti 2006: 170).
29 Apesar da grande diversidade de quilombos, com formas de organização e culturas
variadas, de maneira bastante abrangente é possível dizer que muitas das comunidades
foram – e continuam a ser – caracterizadas por alguns elementos: destacam-se, por
exemplo, as lógicas de reciprocidade entre os seus membros, o uso de áreas comuns e os
estreitos vínculos entre terra e identidade.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
95
30 Estas comunidades foram perseguidas no passado por possuírem um valor polissêmico
– significavam um precedente perigoso e, ao mesmo tempo, mercadoria a ser
recuperada. Na atualidade, o prisma é outro: tornaram-se um entrave ao agronegócio e
um incômodo ao racismo.
31 Apenas a partir do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
da Constituição Federal de 1988, foram atribuídos direitos territoriais às comunidades
remanescentes de quilombos, ao passo que os artigos 214, 215 e 216 acenaram para a
necessidade de proteção do patrimônio cultural de tais grupos. E o que era para ser uma
simpática homenagem pelos 100 anos da abolição transformou-se em um pesadelo para
as elites rurais e em uma brecha para as comunidades negras.
32 A passagem para o espaço restrito do contrato social, operada pela Constituição de
1988, foi aberta graças, por um lado, às pressões dos movimentos negros e, por outro,
ao desconhecimento dos legisladores sobre o próprio país. Desta vez, a invisibilidade
dos quilombolas jogou a seu favor.
33 O contraste entre o quilombo “inventado” e o quilombo real invisibilizado resultou
numa óbvia surpresa para o conjunto da sociedade brasileira, que se deparou com a
proliferação de comunidades até então “inexistentes”. A aprovação do artigo 68 foi, em
parte, garantida pelo imaginário, prevalecente no senso comum, de que os quilombos
eram exceções no Brasil. Porém, a base de dados do Governo Federal aponta para a
existência de 3.554 quilombos, presentes em todas as regiões, com maior concentração
nos estados do Maranhão, Pará, Bahia e Minas Gerais – mas a estimativa é de que
existam ainda mais comunidades.
34 A Constituição de 1988 adicionou mais tempero às discussões sobre os quilombos.
Segundo Ilka Boaventura Leite (2004), nos anos seguintes à promulgação constitucional,
movimentos negros, núcleos de pesquisa, associações profissionais e sindicais,
procuradorias, órgãos dos governos municipais, estaduais e federais passaram a
envolver-se, em alguma medida, com o pleito pela titulação das terras dos
“remanescentes das comunidades dos quilombos”.
35 O artigo 68 permaneceu sem aplicação até 1995. Mas, durante a comemoração do
tricentenário da morte de Zumbi, o tema ganhou novo impulso: o debate sobre os
remanescentes de quilombos, até então restrito à Comissão Pastoral da Terra (CPT) e ao
Ministério Público Federal (MPF) – focado em um único caso pioneiro, o do quilombo de
Rio das Rãs, no sertão baiano – expandiu-se pelo país, tornando-se objeto de debates
políticos e análises acadêmicas (Arruti 2006). Além disso, vários estados brasileiros
incorporaram o tema às suas próprias constituições.
36 Acirradas discussões em torno da definição dos critérios de identificação dos grupos
quilombolas foram então travadas no plano conceitual – antropológico, histórico e
jurídico – e, dentro de tal disputa, o que estava em jogo era “a palavra autorizada, a
definição mais acertada e, enfim, a hegemonia sobre um campo em formação” (Arruti
2006: 33). Para Arruti, o dilema concentrou-se na disputa entre o modus normatizador
do direito e a ênfase na diversidade da antropologia – portanto, entre a norma e o
variante.
37 A par disso, discussões também foram travadas no campo dos movimentos sociais. A
emergência política dos quilombos desencadeou, entre 1986 e 1995, mobilizações de
relevância regional e nacional. No Maranhão, a partir de 1986, começaram a ser
realizados os Encontros de Comunidades Negras Rurais; no Pará foram organizados os
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
96
Encontros Raízes Negras e, em 1989, foi fundada a Associação dos Remanescentes de
Quilombo de Oriximiná (PA).
38 No início dos anos 1990, outros estados, como Bahia, São Paulo, Pernambuco e Mato
Grosso do Sul, iniciaram suas mobilizações, gerando alguns frutos – como a vitória da
área Calunga, em Goiás, que em 1991 foi delimitada como Sítio Histórico e Patrimônio
Cultural, e a criação da Reserva Extrativista Quilombo de Frechal em 1992. Em 1994,
ocorreu em Brasília o I Seminário Nacional das Comunidades Remanescentes de
Quilombo, promovido pela Fundação Cultural Palmares (Ratts 2000). Nesse processo,
segundo Arruti (2006), o movimento negro rural apropriou-se da categoria “quilombo”,
reforçando o debate em torno da questão territorial.
39 Para se pensar o quilombo a partir do vínculo com a terra, o território deve ser
analisado como um fenômeno imaterial e simbólico. “Ele é constituído pelas relações
entre os agentes, agências, expectativas, memórias e natureza”, observa Arruti (2006:
323). Todo elemento físico ou histórico que entra na sua composição passa pelo crivo de
um processo de simbolização que desmaterializa e, ao mesmo tempo, provoca
rearranjos em todo o conjunto. Por isso, para o autor, a busca de direitos territoriais –
necessariamente coletivos – passa pela instituição de uma memória igualmente coletiva
e pelo estabelecimento de uma identidade étnica diferenciada.
40 Esta ideia de territorialidade confronta-se com o mito da igualdade de oportunidades,
que aposta no modelo exclusivo da propriedade individual e privada, de terra-
mercadoria e sua vinculação à produção mecanizada em larga escala, que visa atender
os amplos mercados externos (Leite 2004). Portanto, a relação com o território
contraria a ideia de propriedade privada conforme é dada pelo parâmetro capitalista de
apropriação do espaço.
41 Nesse sentido, não há um modelo único: segundo Almeida (2002b), existem constelações
de situações de apropriação de recursos naturais (hídricos, florestais e do solo),
utilizados segundo uma diversidade de formas e com inúmeras combinações entre uso e
propriedade e entre o privado e o comum, perpassadas por fatores étnicos, de
parentesco e sucessão, por fatores históricos, por elementos identitários peculiares e
por critérios político-organizativos e econômicos. O mesmo autor, ao descrever os
diversos tipos de terras tradicionalmente ocupadas, aponta para essa complexidade:
Em termos analíticos, pode-se adiantar, que tais formas de uso comum designam
situações nas quais o controle dos recursos básicos não é exercido livre e
individualmente por um determinado grupo doméstico de pequenos produtores
diretos ou por um de seus membros. Tal controle se dá através de normas
específicas, combinando uso comum de recursos e apropriação privada de bens, que
são acatadas, de maneira consensual, nos meandros das relações sociais
estabelecidas entre vários grupos familiares, que compõem uma unidade social.
Tanto podem expressar um acesso estável à terra, como ocorre em áreas de
colonização antiga, quando evidenciam formas relativamente transitórias
características das regiões de ocupação recente. Tanto podem se voltar
prioritariamente para a agricultura, quanto para o extrativismo, a pesca ou para o
pastoreio realizados de maneira autônoma, sob forma de cooperação simples e com
base no trabalho familiar. As práticas de ajuda mútua, incidindo sobre recursos
naturais renováveis, revelam um conhecimento aprofundado e peculiar dos
ecossistemas de referência. A atualização destas normas ocorre, assim, em
territórios próprios, cujas delimitações são socialmente reconhecidas, inclusive
pelos circundantes. A territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e
força, mesmo em se tratando de apropriações temporárias dos recursos naturais
(Almeida 2008: 28-29).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
97
42 No caso dos quilombos, as modificações do significado da palavra e da própria
interpretação do termo “resistência” são tratadas por Leite (2007) através dos conceitos
de quilombo trans-histórico, jurídico-formal e pós-utópico. Quanto ao primeiro, refere-
se a deslocamentos semânticos – o processo de metaforização – do quilombo,
vinculando, através dos tempos, a diáspora africana à conquista do território. O
princípio de reconhecimento destas comunidades é a terra que ocuparam e continuam
a ocupar, aliada à ideia de tradicionalidade. Passado e presente, tomados como uma
continuidade histórica, pressupõem o futuro. Como explica a autora,
O quilombo é um termo usado desde o período colonial escravista. Embora tenha
sido também associado a um conjunto de reações que decorrem do prolongamento
das relações de dominação em anos recentes, aparece relacionado às mais diversas
formas de protesto, conspiração, revolta, fuga e rebelião. Esta constatação nos
permite inicialmente afirmar que o quilombo é um conceito trans-histórico, pois
atravessa diversos períodos, contextos e situações, trazendo em seu núcleo central,
um sentido que se mantém – o da não aceitação das diferentes formas de dominação
(Leite 2007: 4).
43 Em 1988, houve a passagem do quilombo trans-histórico para o quilombo jurídico-
formal, ou seja: ele deixou de ser oposição para tornar-se política de Estado. Como
decorrência, “um conjunto de situações, antes invisíveis desde a ordem jurídica
vigente, emergiu para confrontá-la, para desafiar o princípio universal anteriormente
vigente” (Leite 2007: 10). O reconhecimento oficial gera novíssimos sentidos à palavra
“resistência”, na medida em que uma suposta transição pacífica, segura e controlada
deveria inverter a ideia de resistência como conflito para a resistência enquanto ordem,
através do pacto social.
44 Mas a fluidez dos processos identitários pode criar fenômenos surpreendentes, mesmo
quando a matéria-prima é tão estanque quanto uma categorização legal. Portanto, o
“ressurgimento” das comunidades quilombolas vem acompanhado por interessantes
fenômenos. Quando a palavra “quilombo” foi incluída na Constituição Federal, seus
membros passaram a enquadrar-se dentro de uma concepção que não fazia parte do
vocabulário das comunidades antes de 1988.
45 Como descreve Ilka Boaventura Leite, desde a promulgação da Constituição, ações civis,
mobilizações e a criação de associações permitiram às comunidades negras rurais e aos
redutos negros das periferias urbanas recompor e reescrever suas narrativas: “O
quilombo passa a metaforizar as experiências dos afrodescendentes, mas
principalmente as vitórias ocorridas sob o manto anódino do racismo” (2004: 23).
46 O que se vê hoje no Brasil é uma tentativa das elites de inviabilizar o cumprimento da
Carta Magna. Os quilombos vêm se mobilizando em busca da aplicação da lei, mas as
elites também se organizam para impedir a “travessia”. Como afirma Leite (2007),
surgem no Brasil novas formas de dominação que, por sua vez, implicam a emergência
de novas formas de resistência – a que a autora denomina quilombo pós-utópico.
47 A lentidão dos processos de titulação, os entraves da cultura cartorial, a criminalização
das lutas camponesas, as prisões injustificadas, as provas forjadas, a falta de acesso ao
ensino formal – estes e outros aspectos formatam um “estado de justiça” que, mais uma
vez, busca fechar as portas para esta “humanidade banida, empurrada para fora da
ordem e tornada fora da lei” (Leite 2007: 17). Nesse sentido, a utopia é substituída por
um estado de incerteza em relação a esta nova ordem.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
98
Barroco, a pérola imperfeita7
48 A cronologia do barroco não é consensual entre os historiadores. Sem chegar a um
veredicto, é possível, porém, optar por traçar suas margens no período que vai desde a
etapa final de Michelangelo – que muitos consideram “o pai do barroco” – até o fim do
século XVIII, ao estender sua existência para a América Latina (Lisboa 2003; Méndez
2006).
49 Portanto, o século XVII, enquanto período de transição, revela-se sob diferentes
dimensões: é curto no Norte da Europa e longo e decisivo no Sul, bem como nas colônias
ibéricas (Echeverría 1998). Em todos os casos, uma caracterização detalhada do barroco
exige sempre uma análise localizada, uma vez que se manifestou de diferentes formas,
em diferentes regiões.
50 Porém, é viável arriscar uma caracterização mais ampla, mesmo que sujeita aos
desencaixes de sua aplicação nos diferentes contextos. O gosto barroco, em poucas
linhas, pode ser descrito através dos contrastes de ritmos e volumes, vazios e oblíquos,
das dimensões excessivas e da acumulação de ornamentos (Cabanne 2001).
51 A mentalidade barroca pulverizou-se sobre as mais variadas manifestações artísticas:
na literatura eclodiram os jogos poéticos, as metáforas e a prevalência conotativa (Ávila
1971); no teatro, predominaram as alegorias; na música, os ecos e diálogos de vozes e
instrumentos; na pintura, o trompe l’oeil, o tenebrismo, o tremendismo; o congelamento
do movimento gestual na escultura; a retenção da espacialidade cerimonial na
arquitetura (Echeverría 1996). Em todos os casos, segundo José Maravall (2009), o
barroco buscou produzir certo grau de indeterminação acerca de onde acaba o real e
começa o ilusório.
52 Além disso, foi uma arte conectada à Contra-Reforma, sem, no entanto, resumir-se às
suas intenções. Religião versus arte – o paralelismo entre estas duas tendências
complementares e contrapostas caracteriza a relação entre barroquismo e
contrarreformismo. “Um empate que, como toda obra radicalmente barroca, inclina-se
mais para o lado da arte”, afirma Echeverría (1996: 186). 8 Aliás, eu diria, salta para além
desta dicotomia.
53 A religiosidade barroca não ergueu limites rígidos entre o sagrado e o profano. Os
jesuítas, imersos no projeto colonial, não negavam o mundo e suas sensações – pelo
contrário; o corpo passou a ser visto como uma ferramenta para atingir o espírito. A
Contra-Reforma acabou por aproximar-se do sentido religioso popular, ao valorizar as
imagens e outros objetos de devoção, que poderiam ser tocados, vistos, sentidos. As
relações com o plano da transcendência se organizam e desenvolvem recorrendo a
meios, conhecimentos e recursos que são próprios do mundo da experiência (Maravall
2009).
54 “A mente barroca, acima de guerras e mortes, de enganos e crueldades, de miséria e
dor, afirmará uma última concordância dos mais opostos elementos”, descreve
Maravall (2009: 259). Por isso, segundo o autor, no fim das contas todo comportamento
barroco é uma moral de acomodação. O desespero perante o esgotamento do cânone
greco-latino constituiu uma fonte de sentido objetivo, que levou o barroco ao jogo de
paradoxos, enfrentamentos e conciliações entre contrários.
55 Com a emergência do Iluminismo, o barroco passou a ser visto sob uma perspectiva
condenatória e, sobretudo, a partir de uma imagem uniforme e sem fissuras. 9 Século de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
99
ferro, mundus furiosus, tempo de misérias e crimes, tumultos e agitações, ostentações e
vergonhas – enfim, época de conflitos historicamente improdutivos – esta foi, segundo
Bolívar Echeverría (1998), a caracterização do período. No entanto, o autor alerta que a
ideia de caos simples, unitário e absurdo nubla a possibilidade de outra visão, em que
emerge um barroco complexo, variado e coerente em seu conflito – uma perspectiva
que desafia as novas análises críticas sobre o século XVII.
56 Mas o degredo não foi perpétuo. Depois de ter sido visto com desconfiança em boa
parte do século XIX, o barroco despertou um novo interesse. Em 1855, Jacob Burckhardt
publicou sua “Introdução ao Renascimento”, desenvolvendo uma análise artística do
barroco italiano – ainda que sem deixar de apresentá-lo como uma etapa de degradação
dos paradigmas clássicos (Bernal 2004).
57 Em 1888, um de seus discípulos, Heinrich Wölfflin, sistematizou o uso do termo e o
introduziu na história da arte. Ele caracterizou o barroco como um estilo oposto ao
Renascimento, ao elencar os seus cinco esquemas constitutivos: o predomínio do
dinâmico – a cor – sobre o estático, o desenho; a invasão do profundo sobre o primeiro
plano; a presença do não representado no representado; a refuncionalização das partes
pelo todo da representação; a ação do indistinto, nublando a nitidez do diferenciado.
Segundo ele, o interessante do processo residia na passagem de uma arte rigorosa para
uma arte livre e pitoresca; de uma forma estrita a uma ausência de forma (Wölfflin
1991). Na leitura de Echeverría (1996), todas essas características falam da insegurança,
da confusão e ambiguidade; de uma intenção de converter a percepção da obra de arte
num espaço de inquietudes.
58 Diversos autores abordam o barroco a partir do seu caráter persuasório e vinculado à
manutenção dos poderes hegemônicos num mundo em crise, através da infiltração de
conteúdos doutrinários. Para Maravall (2009), por exemplo, toda a arte barroca vem a
ser um drama estamental – a gesticulante submissão do indivíduo à moldura da ordem
social. O autor fala desde a Europa – mais especificamente, desde a Espanha – e, dentro
deste espaço geográfico, desde a perspectiva das elites, na sua luta pela imobilização
das irremediáveis transformações em curso.
59 Os esforços das elites, no entanto, não diluíram os conflitos daqueles tempos de
transição. Se, por um lado, o autor define o barroco como uma cultura massiva do
Estado absolutista, por outro, sinaliza a existência de rebeldias que contradizem o
caráter determinista da persuasão barroca. Caracteriza o europeu do século XVII como
um “indivíduo em luta” (Maravall 2009: 260), que trava duras batalhas consigo mesmo e
com o entorno. Movimentos de oposição política, rebeldias e conspirações fazem parte
do cenário, o que acaba por relativizar a ideia de inescapável submissão das grandes
massas populares, frente às exuberantes estratégias das elites.
60 Mas, se a arte é usada como instrumento para aturdir os sentidos das “almas simples”,
essas mesmas “almas” podem abrir espaços de ruptura com os centros de poder a partir
da experiência estética e ritual que proliferou – e, a partir de outros moldes, prolifera –
nas periferias. Sob este prisma, o barroco não percorreria um só caminho, mas estaria
diante de uma bifurcação, gerada a partir da própria complexidade dos meios sociais.
Boaventura de Sousa Santos (1994) traça esta diferença entre “dois barrocos”:
caracteriza, por um lado, um barroco hierárquico, aristocrático, menos excêntrico que
cêntrico. Por outro lado, também detecta a existência de um barroco transgressivo,
profano (ou mesmo sacrílego), anárquico, heterogêneo, mestiçado, onírico, popular,
cujo centro é enfraquecido.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
100
61 A América Latina foi um território fértil para a proliferação de tais manifestações
transgressoras do barroco. Segundo Echeverría (2007), a identidade barroca latino-
americana, que boa parte da população do continente assumiu no decorrer de
consideráveis períodos da sua história – deixando marcas não apenas na arte e
literatura, mas também nos usos linguísticos, políticos e nas formas de vida cotidiana –
tem suas origens ainda no século XVI, principalmente no México e Peru, generalizando-
se nos séculos XVII e XVIII por outras partes da América. Na sua gênese, está uma forma
de comportamento dos indígenas que sobreviveram nas novas cidades, depois que seus
pais foram vencidos:
O século XVII na América não pôde fazer outra coisa, na sua crise de sobrevivência
civilizatória, que reinventar-se e reinventar também, dentro desta primeira
reinvenção, o pré-hispânico. Não pôde fazer outra coisa que colocar em prática o
programa barroco (Echeverría 1998: 96).
62 Os descendentes dos impérios pré-colombianos derrotados, primeiros inventores do
barroco latino-americano, estavam – literalmente – entre a cruz e a espada. Como
observa Echeverría (1998), submeter-se, colaborar com o mundo e o poder
estabelecidos, equivalia a assegurar a marcha da nova economia e a participar em seus
benefícios. Mas isso implicava numa morte moral, a renúncia a si mesmo. Por outro
lado, rebelar-se ou refugiar-se num lugar inóspito representava o resgate da autonomia
e da dignidade moral, mas também poderia significar a morte física.
63 Diante desta oposição entre assimilação e suicídio, a estratégia utilizada –
principalmente pelas camadas mais pobres – foi uma forma peculiar de
comportamento, que “consistia em não submeter-se e nem tampouco rebelar-se, ou,
inversamente, em submeter-se e rebelar-se ao mesmo tempo” (Echeverría 1998: 181).
Esta estratégia latino-americana, a que Echeverría chama de “opção pelo terceiro
excluído”, significou um salto a um terreno histórico diferente, onde a dicotomia perdia
a sua razão de ser e a partir de onde se vislumbrava uma possibilidade de futuro:
A resistência, a reivindicação da ‘identidade’ americana, era cumprida de maneira
tão radical, que obrigava a pôr à prova, na prática, o núcleo da sua proposta
civilizatória, a refundar-se e reconfigurar-se para responder às novas condições
históricas (Echeverría 1998: 181).
64 Eleger a “terceira possibilidade”, aquela que não cabe no mundo estabelecido, leva a
“viver outro mundo dentro deste mundo” – ou, visto ao revés, “colocar o mundo, tal
como existe de fato, ‘entre parênteses’ ” (Echeverría 1998: 176). Trata-se de um
parêntesis de encenação; de uma desrealização da contradição e da ambivalência que,
sem pretender resolvê-las, lhes confere o status de alegoria.
65 Echeverría (1996), dentre outros autores, trabalha com o conceito de ethos barroco para
caracterizar um princípio de organização da vida social que não se comprometeu com o
projeto civilizatório da modernidade capitalista, mantendo-se à margem do seu
produtivismo febril. A arte barroca seria apenas um dos modos com que esse ethos se fez
presente, através de uma desmesurada estetização da vida cotidiana (Echeverría 1994;
1996).
66 O que encanta o autor não é propriamente a distância mantida pelo barroco frente ao
projeto capitalista; é a forma tomada por este distanciamento. A intrigante convivência
entre tradicionalismo e busca de novidades, entre conservadorismo e rebelião, entre
amor à verdade e culto à dissimulação, que caracterizam o barroco, fazem com que as
suas diferentes tendências se enfrentem, ao mesmo tempo em que as totalidades são
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
101
protegidas, de forma que as forças centrífugas que ameaçam destruir-se mutuamente
possam ser reconciliadas. Mergulhar no “mistério desta contradição estrutural interna”
(Echeverría 1998: 123) é, para o autor, o aspecto mais fascinante do estudo do barroco;
este seria o ponto central de uma visão inovadora do período, capaz de lançar novos
olhares sobre a nossa própria contemporaneidade.
67 Características como estas têm levado a estudos sobre o barroco, movidos não apenas
por um interesse histórico e artístico, mas também pela necessidade de compreensão
de fenômenos que atingem o nosso próprio tempo. Para Echeverría,
Nada parece casar mais fortemente o nosso curto século XX (1914-1989) com o
longo século XVII que a presença em ambos de um fenômeno histórico
extremamente particular: a atualidade de um processo de transição perfeitamente
maduro, se diria até sobremadurado, que se mantém, no entanto, preso, aturdido,
fechado em um círculo do qual não encontra maneira de sair (Echeverría 1998: 126).
68 Os pontos em comum entre o barroco e a nossa contemporaneidade não passaram
despercebidos para Boaventura de Sousa Santos (2002), que o integrou à tríade de
metáforas a partir das quais busca caracterizar as subjetividades na transição
paradigmática. Como já vimos, ao lado da fronteira e do Sul, a metáfora do barroco
emerge como um instrumento de análise da atualidade, cujos elementos dissonantes
dão pistas de outras formas de ser e estar no mundo que vão além da ortodoxia do
desenvolvimento capitalista da modernidade. Por tratar-se de uma metáfora, a
intenção não é designar um estilo, nem identificar uma época ou um ethos cultural:
Utilizo o barroco enquanto metáfora cultural para designar uma forma de
subjectividade e de sociabilidade, o tipo de subjectividade e sociabilidade capaz de
explorar e de querer explorar as potencialidades emancipatórias da transição
paradigmática (Santos 2002: 330).
69 O que a metáfora do barroco busca expor, desta forma, não é a busca de legitimação de
um poder decadente, mas o seu lado de subversão. Segundo o autor, “o ethos barroco
constitui os alicerces de um tipo de sociabilidade interessada em se confrontar com as
formas hegemónicas de globalização e capaz de o fazer, abrindo assim um espaço para
possibilidades contra-hegemónicas” (Santos 2006: 198).
70 O contexto de crise que deu origem ao barroco, que guarda semelhanças com o nosso
próprio tempo, é o que lhe parece ser mais inspirador: “Interesso-me por esta forma de
barroco porque, enquanto manifestação de um exemplo extremo de fraqueza do centro,
constitui um campo privilegiado para o desenvolvimento de uma imaginação
centrífuga, subversiva e blasfema” (Santos 2002: 331).
71 A debilidade do poder central conferiu ao barroco um caráter aberto e inacabado, capaz
de favorecer a autonomia e a criatividade das margens – e o próprio centro pôde
reproduzir-se como margem. Gerou-se uma subjetividade perplexa, dilemática. Neste
sentido, a sociabilidade barroca é emotiva e apaixonada; busca o gosto, o prazer.
Vincula-se ao corpo, ao aqui e ao agora, à ludicidade e, afinal, à utopia. A ideia de
catarse – analisada por Fanon (1975) como uma porta de saída para as energias
acumuladas, imprescindível para todas as coletividades – está evidentemente presente,
mas não só. O que Santos propõe, com esta metáfora, é a construção de um novo senso
comum estético e, acima de tudo, reencantado.
72 O desencanto do senso comum sublinhado por Weber (1982) é, na verdade, um
desencanto circunscrito à modernidade capitalista, que está longe de ser universal. O
mundo está cheio de sociabilidades e subjetividades encantadas, porém invisibilizadas
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
102
pelo pensamento ocidental. Este desperdício de experiências faz com que o mundo
pareça menor e menos diverso do que na verdade é (Santos, 2006).
73 Já vimos que, através da opção pelo terceiro excluído, a população da recém-
conquistada América Latina deslocou sua insuportável contradição interna para o
interior de uma outra lógica – permitindo viver outro mundo dentro deste mundo.
Manobras de ressignificação, de ocultamento e dissimulação impedem que o modelo
hegemônico se instale, com pleno conforto, junto aos grupos sociais subalternizados.
Desta forma, a dominação é condenada a ser um trabalho inacabado, mesmo nos
espaços em que a resistência aberta tornou-se impossível.
74 Assim, Boris Toro (2009) define a dissimulação – e a simulação – como técnicas da
aparência ou arte do encobrimento. No contexto mediterrânico do século XVII,
significou uma resistência racional e criativa à opressão de um poder que começava a
infiltrar-se nas consciências, preenchendo o vazio deixado pelos cismas teológicos.
Referindo-se a Remo Bodei, descreve:
A dissimulação é, então, segundo o comentador italiano, uma estratégia de
sobrevivência e seu uso uma necessidade perante uma forma de poder penetrante e
totalitária […]. A simulação e a dissimulação convertem-se em parte de uma nova
forma de prudência, a qual não se define tanto pela administração dos prazeres ou
pela aquisição da média justa, mas sim pela cautela (Toro 2009: 173).
75 Desde uma visão pautada na cultura nagô, Muniz Sodré afirma que “o que o indivíduo
humano tem conhecido de permanente é mesmo a ambivalência” (Sodré 2005: 72). Esta,
no Ocidente, assume socialmente a feição de instabilidade das forças que se equilibram
provisoriamente numa unidade, do jogo contínuo das tensões, das lutas e das seduções
– tudo isso acionado pelo movimento simbólico. Para o autor, é esse movimento que
impõe limites a todo poder, uma vez que o impede de controlar o vazio que
necessariamente o delimita.
76 A lógica do modelo hegemônico ocidental não se adapta bem às ambivalências. A sua
ansiosa busca pela verdade – necessariamente universal – exige uma clara divisão entre
os dois lados de uma dicotomia. Céu ou inferno; bárbaro ou civilizado; não há
condescendência com os meios-termos, justamente porque a mentalidade cartesiana
não vive nas fronteiras. Assim, é inevitável o desconforto quando, no barroco, “a
representação do sagrado desliza subrepticiamente para a representação do sacrílego”
(Santos 2002: 335).
Folia de Reis: a celebração de um nascimento
improvável
77 Diz a tradição oral de Colônia do Paiol que a Folia de Reis saía em variadas épocas do
ano. Volta e meia, os senhores e capitães-do-mato viam aquele alegre grupo,
representando os três reis magos, com seus enfeites, instrumentos e canções, a
circularem pela região, pedindo doações de casa em casa. Mal sabiam eles que aquela
era também uma estratégia de sobrevivência: se a Folia foi criada para homenagear o
difícil nascimento de Jesus, ocorrido numa manjedoura durante a fuga de Maria e José,
ali ela era realizada para viabilizar o também difícil nascimento de novas crianças
negras, cujas mães fugiam para as matas.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
103
78 Temendo sofrer represálias, essas mulheres optavam por disfarçar a gravidez e
escondiam-se durante o parto. E, nos cortejos das inofensivas Folias, estavam
estrategicamente os mais velhos da comunidade, inclusive as parteiras, que iriam
ajudar a trazer mais uma criança à vida. Mas não há ninguém melhor do que o senhor
Paulo Marinho,10 membro mais velho do quilombo, para explicar esta história:
Na senzala tinha aquelas dona, elas ganhava os neném. Elas ganhava os neném e pra
elas não ser chicotada, o quê que elas fazia? Os marido delas punha elas pra ganhar
as criancinha no meio do mato. Chegava lá, pegava esses capim mumbeca, punha lá,
fazia cama de capim mumbeca pra elas ganhar os filho lá. [...] As músicas da Folia de
Reis, como era os três reis magos, ia três dos mais velhos lá, aquelas dona mais
velha ia junto, chegava lá, fazia o parto da dona e ali depois que a dona ganhasse a
criança, que arrumasse tudo, é que vinha pra senzala.
Eles iam cantando; e será que era pro dono da fazenda não saber que ia nascer a
criança?
Não saber que ia nascer a criança. Aí eles pegou e falou assim: ‘A Virgem Maria
ganhou a criança dela numa manjedoura, o menino Jesus numa manjedoura, no
meio do mato. Assim vocês também vai ganhar as crianças no meio do mato como a
Virgem Maria. E vocês vai ficar ciente que vocês não vai ser escorraçada durante o
parto de vocês. Elas ficava segura. Depois que elas ganhava, que tava tudo tranquilo,
que eles pegava e levava pra senzala. O capitão chegava e falava assim: ‘Da onde saiu
esse negro? Da onde saiu esse negro? Como esse negro nasceu?’ Eles pegava e falava
assim: ‘O negro nasceu como a Virgem Maria ganhou o menino Jesus’. E aí o quê é
que ainda fazia? Nisso, ainda, eles apanhava. Eles não queria que eles fizesse aquilo.
A vontade deles era que as criança não vingasse. Mas como já tinha ido lá, já tinha
ganhado, eles não podia fazer nada. Eles falava que agora não tinha o que fazer. É
onde surgiu a Folia de Reis, que é os três reis magos, compreende?
79 A “sobreposição de Marias” – da Maria mãe de Jesus às “Marias” escravizadas, sujeitas
ao mesmo destino de fuga contra “os demônios”, como sugeriu Paulo Marinho – revela
estratégias de dissimulação, usadas para driblar a extrema violência do regime
escravista. Para relembrar Echeverría (1998), tais estratégias pressupõem concessões
num plano mais evidente, a fim de que vitórias sejam viáveis num plano mais profundo,
dentro de um ambiente repressor. Trata-se de uma oposição possível.
80 A memória das origens da Folia de Reis de Colônia do Paiol associa-se, portanto, ao
conceito de dissimulação: à primeira vista, o folguedo remete à conversão dos negros
escravizados ao cristianismo – o que representa, por um lado, certa aceitação ou
absorção do modelo religioso imposto pelos colonizadores. A partir de um olhar mais
profundo, que atinge outros planos, a mesma Folia pode também significar uma
intrincada estratégia de sobrevivência e de viabilização da descendência, num contexto
de violência absoluta.
81 Um terceiro olhar sobre a Folia de Reis pode ainda levar à sua ambivalência: a
triangulação estabelecida entre o folguedo, o menino Jesus e a criança negra recém-
nascida, que foi mantida através dos tempos pelos mecanismos da memória, não precisa
optar por um extremo ou outro. O senhor Paulo Marinho, por exemplo, fala da devoção
a Jesus e dos horrores da escravidão com o mesmo empenho – sendo que, obviamente, o
segundo tema causa-lhe perplexidade – sem ter que optar por um ou outro significado.
82 Encontramo-nos assim numa encruzilhada semântica: não me parece insensato
argumentar que a Folia é uma coisa e outra ao mesmo tempo. Os foliões saem às ruas,
pedindo suas esmolas de casa em casa, para homenagear a chegada do Salvador. Porém
– e simultaneamente – tem-se ainda hoje a ritualização de uma memória de sofrimento
e da possibilidade de superação através de mecanismos ocultos. Ao perseguirem “a
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
104
estrela do Oriente que apareceu lá no céu”, os cantadores anunciam o nascimento de
Jesus, da mesma forma com que também celebram o nascimento de uma criança negra,
que veio ao mundo, apesar de tudo. Através da opção pelo terceiro excluído, os dois
milagres são louvados ao mesmo tempo.
Jongo: cura ou cultura?
83 Quando perguntei ao senhor Paulo Renê Pereira11 em que consistia o Jongo, recebi uma
resposta inusitada. Eu esperava uma descrição das características, etapas e personagens
do folguedo, mas a sua explicação girou em torno dos seus efeitos:
Com essa dança, ela traz um fluido bom que termina o sofrimento. De repente chega
uma pessoa aqui no meio da gente, cheio de problema, começa a cantar, a cabeça
dela muda, é outra. Isso que é o Jongo: é uma força extraordinária que nós não sabe
de onde vem.
84 Apontando para o seu grupo, que ensaiava em frente à Matriz de Bias Fortes, enquanto
esperava pelo transporte que os levaria a uma apresentação cultural numa cidade
vizinha em Minas Gerais, ele acrescenta: “Essas pessoas, mesmo nós cantando na roda,
aqui assim, nós identifica mais ou menos o que tá acontecendo. Na hora. Ali nós ajuda a
pessoa, canta pra aquela pessoa, põe aquela pessoa alegre. Uns começa a chorar. O
Jongo é isso”.
85 Ou seja: mais do que fornecer uma descrição, o que importava para ele era explicar o
Jongo como um espaço dentro do qual uma pessoa poderia ser ajudada, ou mesmo
curada, caso sofresse de algum mal. Portanto, Renê Pereira, coordenador do grupo de
Bias Fortes, respondia como quem não apenas “vê”, mas “vive” o Jongo.
86 O desencontro entre pergunta e resposta mostra que eu e o entrevistado partíamos de
ângulos completamente diferentes. É claro que a conversa sairia desconexa: eu falava
desde uma perspectiva acadêmica, enquanto ele falava desde a perspectiva de quem
vive “outro mundo dentro deste mundo” – portanto, segundo o meu argumento, desde
uma perspectiva metaforicamente barroca.
87 Diante do “susto” provocado pela resposta do senhor Renê – o abalo causado pelo
encontro entre “mundos” – não cedi à tentação: não insisti em puxar o entrevistado
para o meu lado da conversa, forçando-o a esclarecer quantos são os participantes do
grupo, quais os significados dos símbolos ali presentes, de que tratam as letras das
canções etc. Preferi entregar-me à sua condução sobre o assunto.
88 Só mais tarde dei-me conta da generosidade daquela resposta. Quando o coordenador
do grupo selecionou, dentre o vasto leque de informações de que dispõe sobre o
folguedo, aquela que melhor me daria a conhecer o Jongo – digamos, o seu ponto
central e definitivo – revelou que o cerne está justamente na sua ambivalência.
89 O Jongo é uma manifestação ancestral do samba e do pagode, existente no Sudeste do
Brasil, tendo suas origens relacionadas à cultura do café e da cana-de-açúcar. No Brasil
escravista, serviu como uma estratégia de comunicação em ambientes de extremo
silenciamento, em que se revelavam processos de metaforização que passavam
despercebidos aos ouvidos dos atentos intendentes. Paulo Dias, por exemplo, cita o
depoimento de Dona Zé, de Guaratinguetá (SP), que explica as mensagens sutis
embutidas na cantoria:
Os escravo num podia comunicá com ninguém, eles num tinha liberdade, né? Então,
quando eles entrava na senzala é que eles ia participá um co outro. Então, no meio
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
105
eles faziam a roda de Jongo e, ali, cada um cantava o Jongo falando o que queria falá,
mas sobre... pela canção. Daí, um entendia o que tinha que sê feito. Às vezes o que se
passô no dia, o que ia acontecê. Então, um já avisava o outro. E, era por meio de
ponto de Jongo que era comunicado as coisa (Dias 2001: 875).
90 Para que seja desenvolvida a análise do Jongo de Renê Pereira, voltemos ao barroco. Já
foi discutido que ele traz uma contradição interna, deslocada para outra lógica através
da opção pelo terceiro excluído. Esta ambiguidade é propícia à quebra de dicotomias –
entre aparência/realidade, sagrado/profano, riso/seriedade.
91 No Jongo cantado em Bias Fortes, é possível detectar novas bifurcações de sentidos: por
um lado, é um alegre folguedo, que segue ao ritmo da sanfona, pandeiro e violão. Por
outro, é um momento em que os iniciados são capazes de ver como está cada um dos
membros do grupo, aliviando as dores de quem precisa. É como se, naquele contexto
ritual, os corpos ficassem “transparentes”, deixando notar as necessidades das almas –
isso, se o uso desta oposição corpo/alma fosse cabível. Renê Pereira explica: “[O jongo]
mostra pra gente, que canta, energia negativa; ‘vamo ajudar essa pessoa, que ela
precisa’ ”.
92 Visto o cenário, dá-se a ação: o grupo mobiliza-se para intervir junto àqueles que,
dentre os participantes, estiverem necessitados. Quando todos cantam para aquele que
precisa, este sente o bem-querer coletivo e é curado. “A pessoa cresce”, descreve o
coordenador. Renê Pereira ilustra com o caso de um idoso das redondezas, que andava
desiludido com a vida:
Eu já vi um senhor de idade – um senhor daqui de Bias Fortes, morava lá [aponta
para uma direção da cidade] – ele ficava só dentro de casa, na beira do fogão. ‘Vamo
com nós, vamo jongá!’ ‘Não, isso aí é bobeira’. ‘Vamo com nós, vamo lá, o senhor vai
ver como o senhor vai sentir bem’. Aí ele foi. Aí chegou lá, ele não ficou cantando
não. Ele ficou quietinho num cantinho, depois ele começou dançar. Aí ele foi e falou
assim: ‘Ah, porque esse negócio é bão!’ Voltou no outro dia, aí nós fez uma dança. A
gente já cantou o Jongo, dança um forrozinho. Ele dançou, o hômi mudou, ficou
novo, durou muitos anos, resolveu até casar. O Jongo é isso; o Jongo resgata.
93 Um olhar estranho não capta tais dinâmicas internas. Então, qual a verdade do Jongo? É
cultura ou é cura? O interessante deste e de outros folguedos é que se torna impossível
extrair uma única verdade. Tudo depende da perspectiva a partir da qual são vistos, tal
como acontece no labirinto de espelhos que caracteriza o barroco. O Jongo é um, é
outro, e são ambos ao mesmo tempo.
94 Colônia do Paiol já teve, há tempos, o seu Jongo. Com raízes que penetravam na época
da escravidão, o grupo formava-se nas idas e vindas do trabalho. Como explica o senhor
Paulo Marinho, “nós ia capinar, aí saía um mutirão igual”. Durante os trajetos,
geralmente longos, a realidade cotidiana era mergulhada no mistério – dando
indicações dos profundos elos que unem a labuta diária ao sagrado.
95 Ao cantar e dançar o Jongo, o grupo de trabalhadores sacralizava o trajeto. A rotina
dava lugar ao maravilhoso. Os quilombolas de Colônia do Paiol falam com entusiasmo
desta magia, e de como ela era frequentemente colocada à prova: abundam casos
daqueles membros da comunidade que, empenhados em avaliar os jongueiros,
escondiam objetos pelo caminho. Sabonetes, bebidas, queijos – qualquer peça,
intencionalmente ocultada, servia para testar o poder ali presente. Era esperado que os
líderes do grupo pressentissem a existência do que fora posto no caminho, adivinhando
o seu esconderijo. É como descreve o senhor Paulo Marinho:
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
106
O que é que eles fazia? Comprava uma meia garrafa de pinga, pegava e punha lá por
baixo da ponte. Enfiada no barranco, por baixo da ponte. Padrinho Geraldinho
pegou um queijo, pôs dentro da sacola plástica e pôs lá. Eles [os líderes do Jongo]
chegou perto da ponte, eles começava a arrancar grama com as mão assim, com os
dente assim, com os dente lá, pastava a grama com o dente, ia rodando, rodando,
dum lado e do outro; quando caíram n’água. Eles caíram n’água todos os dois. Nós
falou: ‘O que é que é isso aí?’ Eles falou: ‘Aqui tem dendê! Aqui tem dendê!’ Eles
juntou lá debaixo da ponte, enfiou a mão debaixo e o compadre Negrinho saiu com
aquela garrafa na boca, assim.
96 O desafio serve, assim, para averiguar se o jongueiro realmente tem o dom. Nesse caso,
ele pressente o objeto – como se fosse uma barreira – e “cavuca, cavuca, qui nem um
tatu. Enquanto não acha, não passa”, explica Paulo Marinho.
97 Para viver o Jongo, é preciso ser iniciado. O interessante é que a sua função ritual não
está explícita, como acontece quando, por exemplo, se visita um terreiro de Candomblé.
Para o olhar desatento, ali está uma apresentação cultural, uma tradição; apenas um
grupo de pessoas a tocar, cantar e dançar. O religioso está dissimulado.
98 Mais que isso: o Jongo é curativo e sagrado, mas, ao mesmo tempo, “anima qualquer
festa”, como salienta Renê Pereira. Aqui está corporificada, a meu ver, a dimensão do
terceiro excluído; o salto para além da ambivalência, que torna impossível se tomar
partido por um único sentido. Dali emerge a quebra de dicotomias entre o riso e a
seriedade, entre o sagrado e o profano, entre aparência e realidade. Algumas pistas
revelam a sobreposição de significados sobre o mesmo significante, ou da presença do
outro mundo dentro deste mundo:
A arte barroca propriamente dita, em contraposição com a arte inspirada no ethos
realista, nunca pretendeu afirmar-se como atividade independente e autônoma; não
perseguiu uma estetização pura, desligada das outras formas de ruptura do
automatismo rotineiro da vida cotidiana. Longe de ver nela – no jogo e na festa –
obstáculos para a sua realização, fontes de impureza para as suas obras,
desenvolveu-se em conexão com elas, usando-as como material do seu próprio
trabalho e servindo à complexificação e enriquecimento das mesmas (Echeverría
1996: 184).
99 Echeverría acrescenta que tal característica da arte barroca faz com que seja
especialmente difícil abstrair as suas obras, como “pura arte”, do complexo conjunto
que inclui a interação com as atividades lúdicas e cerimônias festivas. A seu ver, isso
contribuiu para “desrealizar” a modernidade capitalista. E acrescenta que a presença
histórica da arte barroca encontra-se, assim, intimamente conectada com a chamada
cultura popular, “como cultivo dialético espontâneo da concreção histórica do código
social e em especial como cultivo dialético da sociabilidade religiosa” (1996: 184).
100 Assim, a ideia de enquadramento do Jongo dentro do âmbito da cultura ou da religião
perde completamente o sentido, uma vez que ele é regido por outras lógicas. Vejamos
outro exemplo desta indissociação: a festa pelo 20 de Novembro, Dia da Consciência
Negra, contou, em Colônia do Paiol, com a participação do Jongo de Bias Fortes. A
apresentação do grupo visitante foi a última, feita já ao cair da tarde. Ao invés de
subirem no altar, cantarem e dançarem, como fora feito pelos grupos de Maculelê e da
Congada, os jongueiros saíram, posicionaram-se ao alto da rua principal do quilombo e
deram início a uma procissão, que os levaria de volta à capela.
101 À medida que o Jongo avançava pela rua, os membros da comunidade iam
incorporando-se ao grupo, que engrossava na proporção dos passos. Alguns assistiam
de fora, outros ingressavam no cortejo, cantando e dançando alegremente. Eu mesma
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
107
participei da caminhada. Posicionei-me na “linha invisível” que separava os jongueiros,
que lideravam a procissão, e o restante dela. Estava, portanto, logo atrás do grupo de
Bias Fortes – que se destacava pelo figurino branco e amarelo – e à frente dos
quilombolas de Colônia do Paiol.
102 Sobre a mesma fronteira invisível também estava Paulo Marinho. Porém, mais uma vez,
os dois olhares sobre a mesma situação guardavam grandes diferenças. Ele, iniciado no
Jongo, dominava seus códigos – sabia que aquele limite não poderia ser ultrapassado.
103 Eu mantive distância do grupo de jongueiros por respeito, quase intuitivamente; já
Paulo Marinho tinha outros motivos. No dia seguinte, numa conversa informal sobre as
comemorações da véspera, a sua sobrinha, Maria José Franco, pergunta-lhe: “Tio, o
senhor estava cantando tão bem o Jongo, por que não entrou na roda?”. Com sua
maneira espontânea de reagir, o senhor Paulo Marinho arregala os olhos e responde:
“Que é isso! Eu não podia! Não tinha o corpo fechado!” Ou seja: sem uma preparação
prévia, a sua inserção no Jongo o deixaria desprotegido e exposto às dinâmicas
internas, restritas aos iniciados, que ocorrem paralelamente àquilo que um olhar
externo caracterizaria apenas como um belo e alegre folguedo.
Considerações finais
104 Vimos que a metáfora do barroco busca representar um mundo estetizado, teatralizado,
afeito às aparências, sensorial e ambíguo. É o espaço do corpo, do riso, do excesso e da
carnavalização – sendo, portanto, contrário ao modelo desencantado da modernidade.
105 A modernidade hegemônica pauta-se na nítida separação entre a vida cotidiana –
tempo da rotina e da produção – e os momentos de ruptura. Os últimos, segundo
Bolívar Echeverría, são tidos como improdutivos e adquirem um caráter de exceção:
Sem se confundirem entre si, mas estreitamente entrelaçadas uma à outra, as duas
modalidades da existência humana que se desenvolvem nestes dois momentos do
tempo cotidiano sempre dependeram, desde tempos arcaicos, da forma do tecido
que as junta. Por esta razão, quando a modernidade se empenha em reduzir estas
formas complexas a uma forma simples de intercalamento monótono e superficial
de breves interrupções improdutivas no curso de um tempo dedicado quase por
inteiro à produção de mercadorias e à reprodução da força de trabalho, encontra
resistências insuperáveis (Echeverría 1996: 168).
106 Longe de ser desencantado, o mundo dos quilombos – como tantos outros – é invadido
pelo estético. Ritualidade e mistificação, que transformam a realidade em beleza,
formam a base da estetização da vida cotidiana e compõem o espaço-tempo das
comunidades, espalhando-se através das mais variadas manifestações do sagrado. Mitos
deixam-se narrar; forças sublimes aproximam-se do mundano através dos rituais;
santos tornam-se amigos e até assombrações fazem-se pressentir em determinados
pontos do território.
107 O sagrado e o simbólico estão no dia-a-dia, revelando-se com maior exuberância nos
dias de festa. Portanto, as manifestações ali presentes revelam uma multiplicidade de
sentidos, que se entrelaçam com a realidade e com as memórias da comunidade. No
caso dos quilombos, que são cotidianamente atravessados pelas tensões do entorno, isto
se vê refletido nas suas celebrações.
108 Foi discutido que a metáfora do barroco, no âmbito aqui proposto, promove uma
proliferação de sentidos que subverte as mensagens originais. Desta maneira, a
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
108
mestiçagem consiste numa subversão codificada, como a caracterizou Santos (2002).
Portanto, pode ser uma forma de resistência: a abertura a novas formas de significação;
a apropriação criativa subalterna dos modelos impostos pelos dominadores. Ao colocar
em xeque as concepções de tempo, ordem e causalidade vigentes (Fleck 2002), ela
desestabiliza o substrato cultural dominante.
109 Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a mestiçagem dissimula, ela também
mantém e exibe o conflito. Vimos com Echeverría (1994) que, através dela, o “não” se
revela como um caminho tão rebuscado de “sins” que destrói as possibilidades de
afirmação plena. O autor observa que, já no século XVI, os indígenas americanos
integrados na vida citadina dos seus vencedores refuncionalizaram o europeu mediante
um comportamento barroco: reinventaram o cristianismo católico, ao transladá-lo a
uma representação ou teatralidade absoluta (Echeverría 2007). Portanto, esta foi uma
curiosa conspiração: uma conspiração praticada, não confabulada e não preparada.
Tratou-se, antes, de “ceder a uma deusa a fim de criar outra” (Echeverría 2007: 15).
110 A apropriação criativa de elementos oriundos da cultura hegemônica gera curiosas
metamorfoses. Os dois exemplos citados – a Folia de Reis e o Jongo – revelam a
ambivalência e o mistério da contradição estrutural interna do ethos barroco, como
assinalou Echeverría (1998). Através da ambivalência, torna-se impossível a imposição
de um sentido único, preciso e claro, o que permite concessões no plano evidente para
ocultar vitórias num plano superior – a opção pelo terceiro excluído. Desta forma, a
mestiçagem é uma das manifestações de uma capacidade metaforicamente barroca de
quebra de dicotomias, que desestabiliza as binaridades sobre as quais é pautado o
modelo hegemônico. Sagrado versus profano, riso versus seriedade, aparência versus
seriedade; tais oposições dicotômicas tendem a desfazer-se.
111 Estes e outros aspectos das relações entre sagrado e profano revelam modelos
diferentes de relação com a esfera divina, íntimas e cotidianas, que distam do silêncio
circunspecto de Roma. Esta religiosidade não só permite o corpo e o riso, mas torna
estes dois elementos importantes para a louvação. Tal caráter alegre e performático
revela a resistência contida no hibridismo religioso – uma vez que a mescla dali
resultante, denominada genericamente de catolicismo popular, revela dinâmicas sociais
profundamente enraizadas e teimosamente resistentes ao paradigma hegemônico de
ascese e desencanto.
112 Como explica Maravall, “o barroco parte de uma consciência do mal e da dor e a
expressa” (2009: 248). Portanto, o já mencionado salto para o terceiro excluído está
longe de ser alienação. Trata-se da expressão risonha de uma realidade objetivamente
dura; é, afinal, uma das formas de enfrentá-la.
BIBLIOGRAFIA
Almeida, Alfredo W. B. 2002a. “Os Quilombos e as Novas Etnias”. Pp. 43-82 in Quilombos: Identidade
étnica e territorialidade, edited by E. O’Dwyer. Rio de Janeiro: Ed. FGV.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
109
____ 2002b. “As populações remanescentes de quilombos. Direitos do passado ou garantia para o
futuro?”. Pp. 244-255 in Seminário Internacional as Minorias e o Direito, edited by A. Rios. Brasília:
CEJF.
____ 2005. “O direito étnico à terra”. Orçamento & Política Socioambiental, 13: 1-12.
____ 2008. Terra de quilombo, terras indígenas, ‘babaçuais livres’, ‘castanhais do povo’, faixinais e fundos
de pasto: terras tradicionalmente ocupadas. Retrieved March 1º, 2013 (http://
www.novacartografiasocial.com/index.php?option=
com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=69).
Arruti, José M. 2006. Mocambo: Antropologia e História do processo de formação quilombola. Bauru:
Edusc.
Ávila, Affonso. 1971. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva.
Bandeira, Maria de L. and Sodré, Triana V. 1993. “O Estado Novo, a reorganização espacial de
Mato Grosso e a expropriação de terras de negros. O caso Mata Cavalo”, Cadernos do Neru, 2:
83-103.
Bennassar, Bartolomé and Marin, Richard. 2000. História do Brasil. Lisboa: Teorema.
Bernal, Óscar C. 2004. “Nuevos enfoques sobre el barroco y la (Pos)Modernidad (a propósito de los
estudios de Fernando R. de la Flor)”, Dicienda. Cuadernos de Filología Hispánica, 22: 27-51.
Billi, Leila. 2005. Mudança de forma como elemento constitutivo do barroco. Retrieved March 12, 2011
(http://www.dominiosdelinguagem.org.br/pdf/d5-5.pdf).
Cabanne, Pierre. 2001. Barroco e Classicismo. Lisboa: Edições 70.
Campos, Adrelino. 2005. Do quilombo à favela. A produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil.
Dias, Paulo. 2001. “A outra festa negra”. Pp. 859-888 in Festa: Cultura e sociabilidade na América
Portuguesa, v. II, edited by I. Jancsó and I. Kantor. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial/Hucitec/
Fapesp.
Echeverría, Bolívar. 1994. “El ethos barroco”. Pp. 13-36 in Modernidad, mestizaje cultural, ethos
barroco, edited by B. Echeverría. México: ENAM/El Equilibrista.
____ 1996. “El ethos barroco y la estetización de la vida cotidiana”. Escritos enero-diciembre:
161-188.
____ 1998. La modernidad de lo barroco. México: Ediciones Era.
____ 2007. Meditaciones sobre el barroquismo. Retrieved March 15, 2011 (http://
www.bolivare.unam.mx/ensayos/Guadalupanismo%20y%20barroco.pdf).
Fanon, Frantz. 1975. Pele negra, máscaras brancas. Porto: Paisagem.
Fleck, Eliane C. 2002. “O pensamento mestiço. Gruzinski, Serge”. Boletim da ANPHLAC 13: 04-06.
Leite, Ilka B. 2000. “Os quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas”. Revista
Etnográfica 4 (2): 333-354.
____ 2004. O legado do testamento: a comunidade de Casca em perícia. Porto Alegre/Florianópolis:
Editora da UFRGS/NUER-UFSC.
____ 2007. O quilombo trans-histórico, jurídico-formal e pós-utópico. Retrieved March 19, 2009 (http://
www.socialsciences.manchester.ac.uk/disciplines/social anthropology/postgraduate/clacs/
documents/IBoaventurav2.pdf).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
110
Lisboa, Armando M. 2003. Ethos barroco. Retrieved March 10, 2011 (http://www.portalcse.ufsc.br/
~gecon/textos/2003/armando05-03.pdf).
Maravall, José A. 2009. A cultura do barroco. São Paulo: Edusp.
Méndez, Sigmund. 2006. “Del barroco como El ocaso de La concepción alegórica Del mundo”,
Andamios 2 (4): 147-180.
Nascimento, Abdias. 1980. O quilombismo. Petrópolis: Vozes.
O’ Dwyer, Eliane C. 2002. “Introdução: os quilombos e a prática profissional dos antropólogos”.
Pp. 13-42 in Quilombos: identidade étnica e territorialidade, edited by E. C. O’Dwyer. Rio de Janeiro:
FGV/ABA.
Ratts, Alecsandro J. P. 2000. “(Re)conhecer quilombos no território brasileiro: estudos
emobilizações”. Pp. 307-326 in Brasil afro-brasileiro, edited by M. N. S. Fonseca. Belo Horizonte:
Autêntica.
Santos, Boaventura S. 1994. “El Norte, El Sur, la utopía y el ethos barroco”. Pp. 311-332 in
Modernidad, mestizaje cultural, ethos barroco, edited by B. Echeverría. México: ENAM/El Equilibrista,
311-332.
_____ 2002. A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência. Porto: Afrontamento.
_____ 2006. A gramática do tempo. Por uma nova cultura política. Porto: Afrontamento.
Silva, Djalma A. 2005. O passeio dos quilombolas e a formação do quilombo urbano (tese de doutorado).
São Paulo: Pontíficia Universidade Católica de São Paulo.
Sodré, Muniz. 2005. A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A.
Toro, Boris E. 2009. “El par simulación disimulación y el arte de saber vivir”. Alpha 28: 169-180.
Weber, Max. 1982. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
Wölfflin, Heinrich. 1991. Renacimiento y barroco. Barcelona: Paidós.
NOTAS
1. Cf. em www.cedefes.org.br
2. O incremento da imigração a partir deste período deve-se a dois fatores principais: por um
lado, a implementação da lei do usucapião, que levou os fazendeiros a deixarem de oferecer as
suas terras à meia para o plantio. Além disso, houve uma redução no preço do leite e dos
produtos agrícolas.
3. A reflexão aqui apresentada deriva da tese “Quilombo em festa: pós-colonialismos e os
caminhos da emancipação social”, produzida no âmbito do Programa de Doutorado em Pós-
Colonialismos e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais e da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, desenvolvida com o financiamento da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia de Portugal. Tratou-se de um estudo comparado entre três comunidades quilombolas
de diferentes regiões do Brasil – Colônia do Paiol, em Minas Gerais, Mata Cavalo, em Mato Grosso
e Conceição das Crioulas, em Pernambuco. A partir de uma perspectiva teórica pós-colonial,
busquei desenvolver uma descrição densa, com o propósito de analisar os vínculos entre festa e
resistência no contexto quilombola.
4. Na legislação imperial, cai de cinco para três o número de fugidos.
5. Palmares situava-se ao sul da então capitania de Pernambuco, região Nordeste do Brasil. Os
relatos oficiais sobre este quilombo foram, sem exceção, feitos pelos seus inimigos, e não faltam
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
111
informações desencontradas. Ainda assim, é possível dizer que o quilombo foi fundado nos
últimos anos do século XVI, a partir do triunfo de uma revolta num grande engenho de açúcar
(Benassar e Marin 2000).
6. Abdias Nascimento (1980), por exemplo, propôs o termo “quilombismo” para descrever uma
proposta pan-africanista para o Brasil. Além disso, iniciou-se uma disputa entre o 13 de maio,
data da abolição da escravatura, e o 20 de novembro, dia do herói Zumbi. Arruti (2006) observa
que, dentro deste processo de conversão simbólica, surgiram muitas leituras distintas sobre o
tema.
7. Billi (2005) explica que o termo deriva de Broaki, província da Índia onde os portugueses
chegaram em 1510, passando a chamá-la Baróquia. Lá se colhia em abundância um tipo especial
de pérolas que apresentavam uma superfície áspera e irregular, cuja coloração mesclava o branco
com tons escuros.
8. Esta e outras traduções para a língua portuguesa são de minha autoria.
9. Inclusive no Brasil, onde a reação academizante predominou no período imperial; um marco
nesta direção foi a chegada ao país, em 1816, da Missão Artística Francesa, tendo em mãos a
tarefa de introduzir o sistema superior acadêmico e fortalecer o Neoclassicismo. Segundo Ávila
(1971), apenas o modernismo retomaria os estudos sobre a arte setecentista mineira.
10. Ancião, funcionário do município de Bias Fortes.
11. Adulto, morador do município de Bias Fortes.
RESUMOS
O presente artigo utiliza a metáfora do barroco (Santos 2002) para refletir sobre duas
manifestações culturais existentes na região da comunidade afrodescendente de Colônia do Paiol,
localizada no Estado de Minas Gerais, Brasil. A partir deste aporte teórico, e utilizando
entrevistas semiestruturadas e a observação direta como estratégias metodológicas, as
celebrações da Folia de Reis e do Jongo são pensadas desde a perspectiva das suas ambivalências e
polissemias, que apontam para as possibilidades de resistência em contextos de silenciamento.
This article uses the metaphor of the Baroque (Santos 2002) to reflect on two specific cultural
expressions in the quilombola (black) community of Colônia do Paiol, located in Minas Gerais,
Brazil. Based on this theoretical perspective and using semi-structured interviews and
participant observation as research strategies, the celebrations of "Folia de Reis" and "Jongo" are
analyzed in relation to their ambivalences and polysemies, pointing to their importance as
means of resistance in a context of structural oppression.
ÍNDICE
Palavras-chave: barroco, quilombo, jongo, folia de reis, resistência
Keywords: baroque, quilombolas, black community, jongo, folia de reis, resistance
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
112
AUTOR
CARLA LADEIRA PIMENTEL ÁGUAS
Universidade de Coimbra
carlaaguas@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
113
Significação e emoção estética: Lévi-
Strauss e um olhar antropológico
sobre a arte
Meaning and aesthetic emotion: Lévi-Strauss and an anthropological view on art
Tatiana Lotierzo
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2012-10-24
Aceito em: 2013-07-05
Introdução
1 É de Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont, uma imagem que será tornada célebre
entre os surrealistas. Em “Cantos de Maldoror”, o escritor descreve o belo a partir da
fórmula comparativa “é belo como...”. A sequência faz uso de cenas insólitas, como uma
ratoeira em operação, ou a retratilidade das garras de uma ave de rapina e termina com
uma correlação de elementos tão banais quanto distintos entre si, num lugar estranho
para ambos: “é belo como o encontro fortuito, sobre uma mesa de anatomia, de uma
máquina de costura com um guarda-chuva”1 (Lautréamont 1970:224). Esta mesma
formulação será usada por Man Ray na série fotográfica intitulada “O enigma de Isidore
Ducasse”; Max Ernst a escolhe para explicar o “exílio sistemático” (dépaysement
systematique) proposto por André Breton como um caminho para a surrealidade: o
movimento deliberado de retirar as coisas de seu lugar convencional, revelando a
ingenuidade por trás da associação entre uma forma e sua função imediata; máquina e
guarda-chuva adquirem uma nova e possível identidade no encontro sobre a mesa de
anatomia, a superfície onde se empreende a dissecação da matéria orgânica, o
conhecimento profundo da vida a partir da matéria-morta.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
114
2 Claude Lévi-Strauss, no breve ensaio “Uma pintura meditativa” (1983), retoma a
sentença, tal como lida por Ernst e busca extrair, daquela combinação, uma série de
relações que mostram o quão pouco fortuita é a escolha destes três objetos para
figurarem numa reunião à primeira vista inusitada: a máquina possui uma ponta (a
agulha) que perfura o tecido; o guarda-chuva é um tecido de proteção sustentado por
uma ponta; ambos são definidos por sua função (coser ou resguardar); ambos
necessitam reparos (“cirurgias”) ocasionais; e assim por diante. Ao dar vazão à série
reflexiva inaugurada por Lautréamont e celebrada pelos surrealistas, o antropólogo
também explorava a capacidade única do pensamento para produzir associações e
dotar as coisas de sentidos, desdobrados de (novas ou antigas) relações. E, se por um
lado, Ernst considerava necessário abrir mão das pretensões a um “poder criador do
artista” em detrimento do papel do subconsciente – reservatório de imagens enterradas
–, na produção artística, por outro o antropólogo reafirmava sua identificação com a
proposta, lembrando que sua análise dos mitos tampouco podia ser vista como fruto de
um trabalho da consciência:
Os próprios mitos, recortados como outras tantas imagens dos velhos livros em que
os encontrei, deixados depois livres de se disporem ao longo das páginas, segundo
arranjos comandados pela maneira como eles se pensam em mim, muito mais do
que determinados por mim consciente e deliberadamente. (Lévi-Strauss 1983:342) 2
3 Desenhava-se assim, no comentário deste autor sobre o Max Ernst, um princípio
fundamental à teoria que desenvolveu e sustentou ao longo da vida: o de que o
pensamento não é puramente racional, mas possui uma dimensão perceptiva e
sensorial determinante. Esta ideia, tão bem ajustada a um ensaio sobre um artista, está
no centro das reflexões elaboradas por Lévi-Strauss sobre arte.
4 Como se sabe, a aproximação entre arte e antropologia foi uma constante na obra de
Lévi-Strauss: ele escreveu sobre Cézanne, Picasso e o cubismo, discutiu o
impressionismo (com menções explícitas a Seurat e Gauguin), a arte abstrata e o ready-
made, entre outros temas, além de manifestar seu apreço por artistas como Hokusai e
Poussin, Ernst e Anita Albus – isto para não mencionar seus escritos sobre música, que
fogem ao escopo do presente artigo. Em tal movimento, afirmou que a arte deveria ser
considerada uma via de acesso a um mundus imaginalis (outro termo de Ernst), entre os
mundos interior e exterior ao indivíduo, em que a “comissura” se fazia “mais real do
que as duas partes, física e psíquica” (Lévi-Strauss 1983:344). O termo comissura, por
sinal, que assume os significados de linha, superfície ou ponto onde se unem duas
partes; abertura; e fenda é emprestado da anatomia e também se faz presente no jargão
cirúrgico e da botânica. Isto tampouco é fortuito diante do projeto lévi-straussiano, pois
a palavra alude em si às relações umbilicais entre natureza e cultura, tão fortemente
presentes como um ponto central de sua produção teórica. Para Lévi-Strauss, ao
propiciar uma apreciação tão própria da transição entre o sensível e o inteligível, a arte
assumia a função de significar os objetos, revelando aspectos não-evidentes do real e
promovendo a síntese entre a ordem dos eventos e a das estruturas.
5 Este artigo procura dar vazão a alguns desses pontos, abordando as reflexões de Lévi-
Strauss sobre arte. Buscaremos situar as críticas dirigidas pelo autor ao
impressionismo, cubismo, pintura abstrata e ready-made, com relação à sua capacidade
de produzir “significação” e a “emoção estética” – ambas propriedades definidoras de
arte na visão do antropólogo. Partindo de um diálogo com “O pensamento selvagem”
(2008), obra em que Lévi-Strauss posiciona a arte a meio caminho entre ciência e
bricolage, nos perguntamos em que medida o movimento empreendido por aquelas
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
115
correntes de vanguarda as aproximaria da primeira (enfatizando sobremaneira a
produção de “conceitos”) e em que medida elas buscariam o afastamento de ambas, ao
propor a apreensão de “imagens” puras: referimo-nos ao esquema proposto por Lévi-
Strauss, segundo o qual o cientista opera por meio de conceitos e o bricoleur, por meio
de signos, que discutiremos melhor mais adiante.
6 Mais dois pontos merecem atenção, em caráter introdutório. Em primeiro lugar, há que
mencionar a célebre definição presente em “O Pensamento Selvagem”: a arte é um
“modelo reduzido” (Lévi-Strauss 2008:39) da natureza, a reprodução de um objeto em
dimensões simplificadas de acordo com os limites impostos pela técnica, suporte e
materiais adotados. A redução não corresponde apenas a uma questão de tamanho; nas
palavras do autor:
mesmo o tamanho natural supõe o modelo reduzido, pois que a transposição gráfica
ou plástica implica sempre uma renúncia a certas dimensões do objeto: em pintura,
os volumes, as cores, os cheiros, as impressões táteis, até na escultura; e nos dois
casos, a dimensão temporal, pois a totalidade da obra figurada é apreendida num
instante. (Lévi-Strauss 2008:39)
7 O modelo reduzido, conforme Lévi-Strauss, instaura uma inversão do processo de
conhecimento, pois permite justamente perceber o todo antes das partes – operação
impossível diante da natureza, que resulta no potencial da arte como produtora de
“emoção estética”. Dessa forma, a arte “aumenta e diversifica nosso poder sobre um
homólogo da coisa” (Lévi-Strauss 2008:39); mantém a ilusão de estar-se diante do objeto
– o trompe l’oeil que tanto agrada no colarinho de rendas de Clouet 3; e é man made, feito à
mão. Constituindo uma experiência sobre o objeto, transforma o espectador em agente
e “compensa a renúncia às dimensões sensíveis pela aquisição de dimensões
inteligíveis” (Lévi-Strauss 2008:40).
8 A ideia de “emoção estética”, portanto, acompanha o reconhecimento de uma profunda
homologia entre o objeto artístico e o elemento natural, ao mesmo tempo em que
acentua o caráter ilusório dessa relação, percebida como fundamental à construção do
espectador enquanto sujeito, ou agente do conhecimento. A arte propicia revelações
sobre o funcionamento das coisas, por exemplo, no caimento dos tecidos produzido
pela pintura holandesa da Escola de Flandres no século XV, que encontra conhecidos
expoentes em Van Eyck e Van der Weyden. Nas palavras do antropólogo, são artistas
que “não se cansavam de executar um drapeado para representar, de alguma maneira
do interior, os inumeráveis modos como um tecido cai” (Lévi-Strauss 1983:348). A tarefa
deveria tomar em conta o tipo de tecido (lã, seda, sarja, tafetá, cetim), se ele recai
diretamente sobre o corpo ou se há outras roupas por baixo, e o tipo de corte dos panos.
Em suma, trata-se de uma modalidade de trompe l’oeil que menos engana o olho do que
revela aquilo que está além de seu alcance. Além disso, poderíamos acrescentar, a
imagem propicia um tipo de pensamento sensorial sobre os modos com que o corpo
percebe o contato com os tecidos e que só pode ser compreendido através da memória
corporal, constituindo um domínio de saber próprio. Através da percepção, portanto,
chega-se à estrutura do objeto de percepção, como também observa Wiseman (2007).
9 Em segundo lugar – e o exemplo nos conduz a este ponto –, é preciso observar que a
arte constitui, segundo Lévi-Strauss, uma linguagem, ou seja, é capaz de produzir um
sistema de signos que falam diretamente aos sentidos, dotando-os de inteligibilidade.
Assim, a obra de arte apresenta-se como um dispositivo fundamental para a chamada
“ciência do concreto” (Lévi-Strauss 2008:15-50), ou seja, para os “modos de observação e
de reflexão que foram (e sem dúvida permanecem) adaptados a descobertas de tipo
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
116
determinado: as que a natureza autorizava, a partir da organização e da exploração
especulativa do mundo sensível em termos de sensível” (Lévi-Strauss 2008: 31, itálicos
nossos).
10 Ao perfazer o lugar de modelo reduzido, portanto, a arte se transforma num substrato
fundamental para explorar as relações de contiguidade entre mundo natural, corpo e
intelecto – e só encontra realização plena ao possibilitar a experimentação desta
indissociabilidade entre os três domínios que, não obstante, costumam ser tratados com
independentes. Isto, como veremos, é fundamental para a conformação da teoria
estética lévi-straussiana e encontra rebatimentos na proposição de uma concomitância
entre “significação” e “emoção estética”.
Aspectos de uma teoria estética
11 De fato, as noções de “modelo reduzido” e “ciência do concreto” colocam-se no centro
da “teoria estética” elaborada por Lévi-Strauss. Imbert (2006) observa que o projeto
antropológico deste autor mantém íntimas ligações com a indagação de Merleau-Ponty
sobre as relações entre o ser humano e o universo perceptível. Na obra de Lévi-Strauss,
assim como na de Merlau-Ponty, antes de haver estruturas linguísticas, haveria
estruturas da percepção. Daí a importância atribuída pelo antropólogo à observação e
aos demais sentidos, na fruição do “pensamento selvagem”: a metáfora da flor (o amor
perfeito) que, em francês, se chama pensée sauvage, utilizada por ele no livro homônimo,
não poderia ser mais apropriada, na medida em que resume em imagem a união
indissociável entre o elemento natural, em sua capacidade de aguçar sensações, como
catalisador de associações fundamentais para uma descoberta ou invenção da
inteligibilidade humana – a vivência, desse modo, não se torna passível de transmissão
apenas ao nível das operações do intelecto, mas depende também do aparato sensorial.
Ao designar-se como uma “ciência”, o “pensamento selvagem” também se refere a um
tipo de conhecimento assentado sobre o domínio do “concreto”, ou seja, um sistema de
produção de saber em que o testemunho dos sentidos e a percepção assumem papel
preponderante. Tudo isto é condensado pelo antropólogo na ideia de “senso estético”
que, em sua opinião, “reduzido a seus próprios recursos” (Lévi-Strauss 2008:28), pode
abrir caminhos para a taxonomia empreendida pelos cientistas, antecipando seus
resultados.
12 Partindo de uma valorização da experiência sensual ou sensorial pela teoria estética
lévi-straussiana, Wiseman (2007) nota que ela
lida, por meio de dados antropológicos, com questões sobre, por exemplo, o status
ontológico da obra de arte [...], os mecanismos da criação estética, a natureza da
emoção estética, a relação entre a arte indígena e a ocidental, o modo como
diferentes formas de arte significam e como estão interrelacionadas. (Wiseman
2007:7)
13 Segundo este autor,
o que Lévi-Strauss chama de pensée sauvage é essencialmente uma versão
antropológica atualizada daquilo que Alexander Baumgarten nomeou “cognição
sensória” [...]. O conceito de “cognição sensória”, em suas várias facetas, tem sido
central para a teoria estética, de Kant a Hegel e Deleuze, e é também nesse contexto
estético que se deveria ver a exploração antropológica feita por Lévi-Strauss dos
modos de pensamento ‘primitivo’. (Wiseman 2007:7)
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
117
14 O que estaria por trás da ideia de “cognição sensória”, como sugere a junção operada
pelo termo, é precisamente a indivisibilidade entre as dimensões sensível e inteligível
na experimentação do mundo e nos processos de produção de saber. Assim, Wiseman
(idem, ibidem) observa que a percepção estética, segundo essa tradição, “torna-se uma
ferramenta para o entendimento, capaz de penetrar o mundo das aparências e prover
acesso a um mundo de relacionamentos inteligíveis” (idem, ibidem:74). Esse autor
reabre a vertente argumentativa proposta por Simonis (1980), tido como pioneiro na
delimitação de uma “lógica da percepção estética” (Simonis 1980:307) em Lévi-Strauss.
São autores que aportam contribuições fundamentais para a compreensão das
discussões sobre arte empreendidas pelo antropólogo, inserindo-se numa linhagem de
debates4 que pode ser vista em contraponto com as leituras disseminadas em momentos
anteriores, como a pós-estruturalista, representada por Derrida (2005). Segundo tal
perspectiva, o estruturalismo – e Lévi-Strauss, entre seus expoentes – assumiria uma
postura “logocêntrica”, ao reduzir a esquemas estruturais os objetos que se propunha a
analisar, evitando assim discutir sua “inscrição” ou “escrita”, ou seja, sua
corporificação sensível-material e histórica. O estruturalismo, segundo tais críticos,
reduziria a análise da obra ao intelecto, deixando de lado o domínio dos sentidos.
15 Em contraste, Wiseman (2010) afirma que Lévi-Strauss manteve uma preocupação
fundamental com a existência de um “pensamento corporificado” (Wiseman 2010:297),
ou seja, com o papel inegável das sensações para o processo cognitivo, de modo que
“para compreender o pensamento de Lévi-Strauss, deve-se rejeitar a falsa dicotomia
que opõe sensível e inteligível e ver a antropologia estrutural como uma meditação
longa e complexa sobre nosso relacionamento com o mundo perceptível” (Wiseman
2010:313).
16 Dentre os comentadores de Lévi-Strauss que privilegiam a ideia de uma função
cognitiva da arte em suas leituras, destacamos Merquior (1975) e Rocha (1994). O
primeiro critica Simonis (1980) por aquilo que considera uma “leitura unilateral”
(Merquior 1975:11) dos textos do antropólogo e uma transformação da antropologia
estrutural numa “metafísica estética” (Merquior 1975:11). Não obstante, Merquior
menciona a psicologia da percepção e da Gestalt, que identifica o papel ativo da visão
como decodificadora ativa da obra, por suas possibilidades de confirmar do ponto de
vista das teorias da arte algo que Lévi-Strauss estaria afirmando em suas ponderações
sobre a homologia estrutural entre o pensamento, a obra de arte e o mundo natural. Em
tempos recentes, Rocha (1994) retoma esse ponto, bem como o argumento de Merquior,
para quem o estruturalismo traz a obra ao centro da reflexão, afastando-se da
abordagem idealista que, a seu ver, privilegiaria a ideia de uma intuição criadora em
detrimento das possibilidades construtivas abertas pela obra per se.
17 Já Hénaff (1998), em análise bastante original, procura tecer reflexões sobre o processo
de miniaturização ou modelagem do natural, operado no objeto artístico com a
finalidade da produção de conhecimento. Ao fazê-lo, ele aponta para algo que, com
alguma liberdade, poderíamos chamar de uma agência da obra de arte, provedora de
uma visão do inesperado, ou mesmo do inimaginável, lócus de uma surpresa que “cria o
próprio evento na estrutura ou até mesmo o evento da estrutura” (Henaff 1998:195,
grifos do autor). Por esse motivo, a arte deveria ser vista como “invenção” (com os
sentidos de experimento, mas também de criação), na perspectiva de Hénaff.
18 Guardadas as diferenças, vale sublinhar que todos os autores citados possibilitam
identificar na arte uma camada fundamental da teoria antropológica lévi-straussiana,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
118
que poderíamos chamar de estético-cognitiva, viabilizadora de uma constatação da
unidade entre natureza e cultura. Avançando nesse aspecto, é importante olhar com
maior atenção o papel das relações entre arte e natureza, segundo Lévi-Strauss. A
despeito das diferenças entre análises, é preciso sublinhar que diversos autores – o
próprio Wiseman (2007 e 2010), entre eles – coincidem, na medida em que buscam
questionar certos juízos críticos emitidos por Lévi-Strauss sobre arte. Discutiremos
mais adiante esses comentários, à luz das próprias observações feitas pelo próprio
antropólogo sobre o impressionismo, o cubismo, a arte abstrata e o ready-made.
Natureza-cultura: a arte como experiência limiar
19 Em suas “Conversas com George Charbonnier” (Lévi-Strauss 1969), Lévi-Strauss explica-
lhe que a arte “constitui em seu degrau mais alto aquele arrebatamento da natureza
pela cultura que é essencial ao tipo de fenômeno estudado pelos antropólogos” (Lévi-
Strauss 1969:107). Tal perspectiva identifica um ingrediente importante da arte,
portanto, na motivação profunda que ela encontra na natureza, coincidência entre
signo artístico e objeto, que serve de motor à emoção estética. Lévi-Strauss destaca a
existência de
um movimento em duas vias: uma aspiração da natureza à cultura, do objeto ao
signo e à linguagem, e um segundo movimento que, através dessa expressão
linguística, nos permite descobrir ou perceber propriedades não-evidentes do
objeto e que são as mesmas propriedades que ele tem em comum com a estrutura e
funcionamento da mente humana. (Lévi-Strauss 1969:129)
20 Descola (2010) provê reflexões fundamentais para compreender esse lugar de transição,
ou de uma comissura que torna evidente que a separação radical entre natureza e
cultura é antes uma operação da própria cultura do que algo dado. Este autor
argumenta que Lévi-Strauss rejeita a dicotomia estabelecida pelo pensamento ocidental
entre natureza e cultura, ao mesmo tempo em que elucida a evocação de naturezas (no
plural) pela teoria lévi-straussiana.
Natureza é algo como um imenso reservatório de propriedades observáveis, onde a
mente é livre para selecionar objetos que então converterá em signos. Em resumo,
essa natureza-enciclopédia é em primeiro lugar “boa para pensar” (‘bonne à
penser’, para usar a frase de Lévi-Strauss); [...] Esta natureza, plantada como um
palco montado para o teatro da mente, contrasta não apenas com a natureza
massiva e implacável do determinismo geográfico, mas também com a outra
natureza cujos efeitos Lévi-Strauss evoca com frequência: a natureza orgânica de
nossa espécie, que nos fornece os meios de perceber objetos sensíveis e atribuir-lhes
significado, a maquinaria biológica que garante a unidade de nossas operações
mentais e oferece a esperança de alcançar as regras que as governam. Enquanto a
natureza, construída como exterior à humanidade, permanece em posição
secundária, em sua manifestação corpórea ela assume um papel chave numa teoria
das faculdades, que se recusa a discriminar entre estados subjetivos e propriedades
cósmicas. (Descola 2010:106)
21 Da existência de uma tal natureza corpórea resultaria que a capacidade de apreensão do
meio físico se deve a uma afinidade entre os órgãos dos sentidos, sua codificação
cerebral e o mundo exterior, como observa Descola (2010). Tal afinidade estaria
baseada no fato de que as informações recebidas pela percepção sensória imediata
não são material bruto, um tipo exato de cópia dos objetos percebidos, mas
consistem em propriedades distintivas abstraídas da realidade através de
mecanismos de codificação e decodificação inscritos no sistema nervoso e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
119
funcionando conforme oposições binárias: o contraste entre movimento e
imobilidade, a presencia ou ausência de cor, as diferenças no contorno dos objetos...
As estruturas não são, portanto, artefatos puros do intelecto formatando livremente
uma realidade plástica. (Descola 2010:195)5
22 Nos moldes dessa constatação, é possível vislumbrar, portanto, a posição privilegiada
que a arte, como “modelo reduzido” da natureza, ocupa na teoria lévi-straussiana
enquanto elo de ligação entre natureza corpórea e natureza-enciclopédia. Além disso, é
possível compreender a funcionalidade da arte como substrato necessário não apenas à
significação da existência, como também à própria experiência (natural) de si. A obra
de arte é algo que constitui o sujeito racional ou o intelecto como medida de capacidade
analítica, mas também as disposições interiores mais profundas desse sujeito: aciona
impulsos orgânicos involuntários, situando-se no limiar entre a constatação da
inventividade e o reconhecimento da falibilidade humanas, ou ainda no limiar entre o
que se concebe como corpo e mente, ultrapassando a dicotomia natureza/cultura. Além
disso, como pontua Wiseman (2007 e 2010), a arte cumpre na obra de Lévi-Strauss o
papel de meio fundante do divisor natureza/cultura, que é “em si mesmo um ‘artefato’,
uma estrutura inventada pela ‘cultura’ ou, como Philippe Descola [...] mostrou
recentemente, por certas culturas” (Wiseman 2007:11).
23 Lévi-Strauss reforça que “a função da obra de arte é significar um objeto” (Lévi-Strauss
1969:109). Noutro trecho, diz que “a verdadeira função da transposição ou promoção
estética é elevar ao nível significativo algo que não existia nesse modo ou forma em seu
estado cru” (Lévi-Strauss 1969:123). Ao percebê-lo, importa notar que, à luz da
elucidação feita por Descola, essa significação operada por meio da arte pode ser
definida como um instante de apreensão ao mesmo tempo sensível e inteligível de
relações homólogas entre mente, obra de arte e natureza. Daí, talvez, decorra sua
simultaneidade com a “emoção estética”, que neste marco conceitual se torna
justamente a “maneira pela qual reagimos quando um objeto não-significativo é
promovido ao papel de significante” (Lévi-Strauss 1969:123).
24 Por outro lado, a “emoção estética” está sempre envolvida num processo simultâneo de
objetificação do mesmo sujeito diante da vastidão e completude do mundo natural. Não
por acaso, o apreço de Lévi-Strauss por Max Ernst, pelo guarda-chuva que encontra a
máquina de costura na mesa de anatomia, se faz mais claro no momento em que o
espectador/artista se percebe objeto no processo de significação e “uma complacência
do homem para com a sua percepção opõe-se a uma atitude de deferência, senão de
humildade, perante a inesgotável riqueza do mundo” (Lévi-Strauss 1983:349).
25 Se o pensamento tem o potencial de significar um elemento extraído à realidade física,
com o qual compartilha disposições estruturais6, o faz por meio da representação
parcial de um todo de qualidades que lhe escapam. Ao escolher determinados aspectos,
essa representação por um lado lhes permite assumir sentidos inesperados (cultivados
no âmbito de uma relação inédita com outros elementos), por outro obscurece todo o
restante, que em segunda mirada volta ao campo de visão e revela que o domínio
anteriormente imaginado sobre o objeto é, no fundo, apenas comparável à parcela do
objeto que se deixa pensar no sujeito.
26 De todo modo, os objetos apreendidos pelo pensamento são caracterizados pela
“superabundância” (Lévi-Strauss 1969:83). “Por deficiência ou excesso, o objeto é
sempre alargado da representação e as exigências da arte sempre excedem os meios à
disposição do artista” (idem, ibidem:84), comenta o antropólogo. Tal complexidade
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
120
inalcançável das formas sensíveis faz com que qualquer trabalho de representação
parta inevitavelmente de uma dose de experimentação sensível, produzindo-se na
relação entre um desejo de possuir o objeto em sua completude e a impossibilidade de
fazê-lo7. Logo, são objetos que apontam para a inserção discreta do humano em meio à
vastidão de possibilidades do mundo natural, que ele é capaz de apreender do ponto de
vista de um aparato sensorial e intelectual, mas nunca em sua completude e nunca de
modo absoluto.
27 Resta compreender as metodologias de abordagem disponíveis para esse trabalho de
descoberta das propriedades estruturais nos objetos, segundo Lévi-Strauss.
Imagem, signo e conceito contra a superabundância
dos objetos
28 A arte, ao conformar-se a um modelo reduzido, está diretamente vinculada ao
conhecimento do mundo: organiza e reapresenta informações recebidas do mundo
exterior aos órgãos dos sentidos. Desse modo, ela se inscreve na teoria lévi-straussiana
como elemento de interesse direto da antropologia, ciência esta que tem como
problema central
“a passagem da natureza à cultura”, ou seja, a maneira pela qual os seres humanos
atribuem sentido à sua existência biológica [...]: estuda as condições pelas quais um
domínio da existência humana por tornar-se significativo e as “formas” pelas quais
o “espírito humano” organiza o dado biológico para constituí-lo em sistema de
signos. (Maniglier 2002:5-6)
29 De acordo com essa perspectiva – e conforme pontuamos anteriormente – é uma
“lógica do concreto” ou das “qualidades sensíveis”, portanto, que se encontra na base
da investigação antropológica e do fazer artístico, valorizando-se as relações entre
seres humanos e a realidade física.
30 Pois esta lógica, como destaca o antropólogo em “O pensamento selvagem”, é operativa
nos procedimentos adotados pelo cientista e o bricoleur para suas inquirições, podendo
encontrar-se operante no seio de toda a atividade humana. A Linguística Estrutural de
Saussure propicia a Lévi-Strauss a interlocução para pensar em três modalidades de
apreensão do mundo sensível através da linguagem, a saber: imagens, signos e
conceitos. Embora estas dimensões não existam isoladamente (na medida em que o
signo se configura enquanto união entre imagem/significante e conceito/significado), a
ênfase diferenciada em cada uma possibilita definir projetos de conhecimento distintos.
31 Os signos, conforme situa o antropólogo, estão a meio caminho entre imagens e
conceitos. “Assim como a imagem, o signo é um ser concreto, mas assemelha-se ao
conceito por seu poder referencial: um e outro não se referem exclusivamente a si
mesmos” (Lévi-Strauss 2008:33). É por meio desse exercício de distribuição funcional
entre as três categorias que ele se dispõe a refletir sobre as diferenças entre o bricoleur e
o cientista na metodologia de abordagem do mundo sensível. Para ilustrar a ênfase em
uma ou outra modalidade, afirma que o primeiro estaria operando por meio de signos;
o segundo, de conceitos.
32 Por definição, o conceito pressupõe-se “integralmente transparente em relação à
realidade” (Lévi-Strauss 2008:35), ou seja, apresenta-se como explicação precisa do
mundo sensível, almejando uma sobreposição perfeita a ele. Tudo se passa como se a
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
121
definição fosse idêntica ao objeto e a verdade das coisas pudesse ser formulada através
de palavras8. Por outro lado, como o signo e o objeto são marcados pela
superabundância, o conceito opera sempre uma redução, privilegia um aspecto entre
muitos possíveis. Assim, ele pode estabelecer “relações teoricamente ilimitadas com
outros do mesmo tipo” (Lévi-Strauss 2008:36) e opera “uma abertura do conjunto com o
qual trabalha”, sem no entanto aumentá-lo ou renová-lo: limita-se a obter o grupo de
suas transformações (Lévi-Strauss 2008:35-36). Desde que, portanto, uma dada relação
esteja fixada entre um signo e um conceito – e desde que o signo tenha sido
neutralizado pela convenção – o conceito pode adquirir novos significados. À medida
que o pensamento privilegia o conceito, afasta-se da concretude. A motivação
encontrada na natureza cede lugar à arbitrariedade, colocando em risco a
“comunicação”9 diante de um aprisionamento em estruturas artificiais cada vez mais
distantes de sua inspiração/intenção natural. Ao passo que torna distante a
compreensão recíproca no interior da cultura, também afasta os sujeitos das
possibilidades de ampliação ou renovação de sua experiência social – que se encontra
na base da ideia de humanidade.
33 Já os signos aceitam que “uma certa densidade de humanidade seja incorporada ao
real” (Lévi-Strauss 2008:35) e, diferentemente dos conceitos, não se pretendem
idênticos a ele. Exprimem, na visão do antropólogo, o conjunto de mensagens
constituintes do conjunto cultural em suas múltiplas possibilidades de significação,
ainda não filtradas pelo exercício de redução que está na base da construção de
conceitos.
34 Por fim, a imagem é fixa e pode desempenhar o papel de signo, ou coabitar com a ideia
no interior do signo, ainda que em si mesma, possa constituir uma espécie de espasmo
da consciência, anterior a qualquer experiência de significação. É igualmente
interessante, em termos dessa definição, perceber que a imagem, a princípio neutra, é
significante – e, portanto, constitui uma constante que, destacada de um conjunto de
estímulos visuais, revela algo inusitado não só aos sentidos, mas também ao intelecto.
35 Assim, se a ciência (ou pensamento científico) opera por meio de conceitos, ao passo
que o bricolage (associado ao pensamento mítico), de signos, pode-se pensar que o
cientista interroga o universo, pressupondo que encontrará significados unívocos em
relação a ele (os conceitos) – e, portanto, propõe uma estabilização que se supõe
definitiva; enquanto isso, o bricoleur interroga o legado da cultura, os “testemunhos
fósseis da história de um indivíduo e de uma sociedade” (Lévi-Strauss 2008:37),
reordenando de forma sempre original um conjunto de signos – e, por isso, produz
relações inéditas que o conceito ainda não pode exprimir. O primeiro cria eventos a
partir de estruturas – suas hipóteses e teorias; o segundo, estruturas a partir de eventos
– unindo vestígios do presente e do passado numa composição heteróclita e plena de
novas possibilidades a explorar.
36 Também não se pode ignorar que o peso da crítica à razão científica trazida por Lévi-
Strauss tem ressonância direta em seus debates sobre arte: o pensamento mítico
(selvagem) é libertador, porque se opõe à “falta de sentido com a qual a ciência, em
princípio, se permitiria transigir” (Lévi-Strauss 2008:38). O antropólogo denuncia,
portanto, um caráter ilusório da ciência, sua confiança na possibilidade de revelar a
essência das coisas, construindo significados unívocos; e lança luzes sobre o
funcionamento arbitrário dos signos ante a superabundância dos objetos que resistem
às tentativas de apreensão.10
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
122
37 É o momento de rever o lugar da arte. Segundo Lévi-Strauss, ela estaria a meio caminho
entre ciência e bricolage. Se o cientista atribuiria às estruturas preeminência sobre os
eventos e o bricoleur atribuiria aos eventos uma anterioridade em relação às estruturas,
a arte está:
Sempre a meio-caminho entre o esquema e a anedota, o gênio do pintor consiste em
unir conhecimento interno e externo, ser e devir; em produzir com seu pincel um
objeto que não existe como objeto e que, todavia, sabe criar sobre a tela: síntese
exatamente equilibrada de uma ou de várias estruturas artificiais e naturais e de um
ou vários fatos naturais e sociais. (Lévi-Strauss 2008:41)
38 A posição da arte em meio ao bricolage e à ciência apresenta algumas implicações que
gostaríamos de discutir com base em observações feitas pelo próprio Lévi-Strauss em
suas “Conversas com Georges Charbonnier” (1969).
39 Primeiramente, na realização da arte, não se pode prescindir da observação (e
significação) da natureza, mantendo-se fortemente vinculada à realidade física, ao
sensível, que lhe oferece recursos para provocar novos caminhos à apropriação
inteligível; por outro lado, não seria arte se não fosse uma atividade estética voltada
para si mesma, dialogando com seus cânones e métodos de reprodução internos – o que
estaria próximo das estruturas/hipóteses do cientista. Segundo o autor, se modelo e
obra de arte fossem idênticos, o artista
estaria reproduzindo a natureza e não criando um objeto cultural específico. Por
outro lado, se o problema não aparecesse, isto é, se não houvesse relação entre a
obra e sua fonte inspiradora, não estaríamos lidando com uma obra de arte, mas sim
com um objeto de natureza linguística. (Lévi-Strauss 1969:108)
40 Em segundo lugar, a arte não pode abandonar o desejo de possuir o objeto em sua
totalidade, tal como faz o cientista, englobando uma tendência intrínseca ao conceito;
por outro lado, é apenas ao libertar os signos da fixidez com que os conceitos induzem a
olhá-los que pode criar novos sentidos a partir de novas sensações – e nisso importa
mostrar que as imagens são significantes, mais do que estímulos do exterior à retina.
41 Por fim, se o movimento da ciência em direção ao conceito conduz a estruturas
artificiais carregadas de arbitrariedade – e ao risco de uma incomunicabilidade,
individualização ou desumanização excessiva –, ao aproximar-se do bricolage e do uso
de signos enquanto eventos, a arte adquire uma função claramente coletiva, realizando
seu potencial de comunicação. No entanto, como afirma Lévi-Strauss,
o equilíbrio entre estrutura e evento, necessidade e contingência, interioridade e
exterioridade é um equilíbrio precário, constantemente ameaçado pelas trações
exercidas num e noutro sentido, segundo as flutuações da moda, do estilo e das
condições sociais gerais. (Lévi-Strauss 2008:46)
42 É no âmago dessas reflexões, informadas pelo esforço de propor uma definição de arte
conforme à obra de Lévi-Strauss, que situamos a crítica do antropólogo às vanguardas,
à qual passaremos no próximo item.
Significação e emoção estética: razões de uma crítica
de arte
Sou filho de pintor e duas vezes sobrinho de pintor. Cresci nos ateliês; tive nas mãos
crayons e pincéis ao mesmo tempo em que aprendia a ler e escrever. Em matéria de
pintura, me sinto um pouco na profissão. Em 1930, ajudei meu pai a realizar dois
grandes painéis decorativos para a exposição colonial, fui escalado por ele como nos
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
123
ateliês da renascença, onde todo mundo se punha a trabalhar, a família, os alunos
etc. (Lévi-Strauss apud Quilliot 2012:255)
43 Filho de Raymond Lévi-Strauss, pintor formado na tradição acadêmica da Escola de
Belas Artes de Paris, Claude Lévi-Strauss desde cedo imprimiu seu apreço pela pintura e
a escultura em seus trabalhos. O pai, amante da pintura dos séculos XVIII e XIX, foi o
responsável por cultivar no antropólogo essa predileção desde a infância. De acordo
com Passetti (2008), quando tirava boas notas, Claude era premiado com visitas ao
Louvre ou concertos na Ópera. Em uma dessas ocasiões, o futuro antropólogo recebeu
como recompensa uma estampa japonesa. Colocou o presente no fundo de uma caixa
que, aos poucos, foi decorando com móveis em miniatura – japoneses ou não. Esta
memória de infância do antropólogo é retomada também por Wiseman (2007), que a
considera um biografema, ou síntese de aspectos tão variados quanto marcantes da vida
e da obra de Lévi-Strauss, como a definição de arte como “modelo reduzido”, a ideia da
criação como bricolage, o amor pelas coisas japonesas e o colecionismo, entre outros.
44 Mas se não há dúvidas do fascínio de Lévi-Strauss pela arte, uma questão, no entanto,
tem intrigado os comentadores que discutem seu pensamento: referimo-nos a um
pessimismo nada infrequente do antropólogo diante de determinadas manifestações
artísticas de vanguarda, mais especificamente, impressionismo, cubismo 11, arte abstrata
e ready-made, que foram alvo de críticas do antropólogo. Em contrapartida, ele elogiou,
com uma certa nostalgia, a engenhosidade dos acadêmicos Ingres e Poussin, e nutriu
diálogo com representantes do surrealismo, destacando Max Ernst como um exemplo
em meio aos artistas de seu tempo.
45 Vimos que dois elementos são fundamentais para a definição de arte proposta por Lévi-
Strauss: a obra deve “significar” um objeto e ser capaz de “produzir emoção estética”. A
ideia de significação diz respeito a um processo de reabilitação do potencial criativo
presente no signo, libertando-o de atribuições convencionais e promovendo um
alargamento nas formas de apreensão sensível e inteligível do real. A emoção estética,
conforme mencionamos, é a reação provocada pela promoção de um objeto
aparentemente não-significativo ao lugar de significante. De acordo com Lévi-Strauss,
ela “provém dessa união instaurada no âmago de uma coisa criada pelo homem e,
portanto, também virtualmente pelo espectador que lhe descobre a possibilidade,
através da obra de arte, entre a ordem da estrutura e a ordem do evento” (Lévi-Strauss
2008:41).
46 Significação e emoção estética estão no centro das advertências do antropólogo quanto
à produção artística de seu tempo:
O grande perigo que ameaça a arte parece-me apresentar-se de duas maneiras:
primeiramente, se ao invés de ser uma linguagem, ela se tornar uma pseudo-
linguagem, uma caricatura de linguagem, um engano, um jogo infantil sobre o tema
da linguagem, sem êxito de produzir significação. Em segundo lugar, ela pode tornar-se
uma linguagem total que é do mesmo tipo de uma linguagem articulada, exceto pelo
material empregado e, neste caso, é altamente provável que possa significar, mas não
pode ao mesmo tempo vir acompanhada de nenhuma emoção estética. (Lévi-Strauss
1969:122, grifos nossos)
47 Como exemplo do primeiro tipo, tem-se o impressionismo e, mais fortemente, a arte
abstrata, segundo as apreciações críticas expostas por Lévi-Strauss. No segundo grupo,
estaria o cubismo. O primeiro teria buscado exprimir a natureza tal como os sentidos a
recebem, mantendo, portanto, sua forte motivação com a realidade exterior. Não
obstante, Lévi-Strauss critica aquele movimento, alegando que ele teria perdido o
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
124
prumo ao fixar-se na representação – o sensível –, descuidando da significação – o
inteligível. De fato, a proposta do impressionismo foi explorar a autonomia da
percepção e da chamada pura visão, não condicionadas pelas convenções pictóricas
vigentes. Obtinham-se assim imagens que correspondiam a sensações, ou modos de
apreensão corpórea do natural, de modo que a cor, por exemplo, é encarada como
linguagem autônoma, que não deve subordinar-se ao desenho ou ao tema da
composição (Distel:1974; Taylor:1987; Tinterow & Loyrette:1994; Schapiro:1997).
48 A chamada arte abstrata, cujo expoente mais conhecido talvez seja Wassily Kandinsky,
aprofunda as investigações sobre a autonomia da cor enquanto linguagem, sobretudo
ao apostar no desenho de formas abstratas ou geométricas. Por esse motivo, essa
produção constitui, segundo Lévi-Strauss, uma “pseudo-linguagem”, que abre mão da
significação:
a mancha de tinta no cavalete não tem significado intrínseco, mas poderia ser usada
para distinguir nuances de significação [...] isso poderia ser verdade para uma
pintura que tivesse alguma relação, ainda que remota, com algum objeto, e na qual
o toque de tinta pudesse ser usado, por exemplo, para distinguir entre forma e
conteúdo, contornos e cores, luz e sombra e assim por diante... mas não num
sistema em que o toque de tinta representa a somatória total do sistema e onde não
há código secundário para além e acima do próprio toque de tinta, e o pintor se
considera no direito de formular suas regras no plano individual. (Lévi-Strauss,
1969:129)
49 Já o cubismo, por outro lado, “foi além do objeto, rumo à significação” (Lévi-Strauss,
1969: 72-73). O movimento
redescobre a verdade semântica da arte, pois sua ambição essencial era significar, e
não apenas representar. Assim, a revolução cubista foi mais profunda que a
impressionista, embora num primeiro momento ele tenha feito uso dos recursos
conseguidos pelo impressionismo. (Lévi-Strauss, 1969:72-73)
50 Não obstante, Lévi-Strauss considera que o cubismo estaria demasiado afastado do
natural, o que inviabiliza sua capacidade de comunicação: esse movimento teria ficado
restrito a um esforço de reelaboração conceitual de suas próprias convenções, na
opinião do antropólogo, mostrando-se incapaz de provocar “emoção estética”, pois as
sucessivas deformações nos esquemas pictóricos criados pelo cubismo teriam perdido o
lastro real capaz de dotar de encanto a descoberta do mundo.
51 Inaugura-se, assim, um novo tipo de academicismo: se na era pré-impressionista da
pintura ocidental prevalecia o “academicismo do significado”, em que a convenção e a
tradição determinavam a forma da pintura, ele foi substituído pelo “academicismo do
significante”, ancorado na prática de “um consumo quase obsessivo de todos os
sistemas de signos que estiveram ou estão em uso pela raça humana em todo e qualquer
lugar desde que o homem possui uma forma de expressão artística” (Lévi-Strauss
1969:75).
52 É importante parar por um momento, para refletir sobre essas considerações a partir de
contra-argumentos elaborados em desacordo à crítica lévi-straussiana ao
impressionismo, à arte abstrata e ao cubismo. Eco (1968), opõe-se à ideia de que a arte
abstrata é incapaz de produzir significação. Ele discorda quanto à obrigatoriedade da
“dupla articulação” – cultura e natureza –, estabelecida pela teoria lévi-straussiana,
como pré-requisito para a produção artística da significação (lembre-se aqui que a arte
exprime, segundo esta teoria, o ponto de inflexão entre natureza e cultura). Na
perspectiva de Eco, a arte pode ser rica em sentidos ainda que funcione somente em um
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
125
desses níveis, ou mesmo sem codificação sistemática. Quilliot (2012) elabora crítica
complementar, argumentando que a aceitação da arte abstrata pelo grande público
indica sua capacidade de produzir significação. Assim, enquanto a teoria estética
elaborada por Lévi-Strauss parte de exemplos como o de que não há cores na pintura
senão porque existem objetos naturalmente coloridos – de modo que apenas por
abstração as cores podem descolar-se de seus substratos e considerar-se como termos
de um sistema separado, aqueles autores postulam que o mundo dos objetos é
construído conforme uma necessidade prioritariamente utilitária, de modo que as cores
(ou formas, ou quaisquer atributos da forma artística) emergem separadas de quaisquer
suportes objetivos.
53 Já Wiseman (2007) considera que a arte abstrata pode tornar-se inteligível porque o
pensamento é capaz de estabelecer homologias envolvendo qualidades abstratas (como
cor e luz), dotando-as de inteligibilidade. O autor recorda, nesse sentido, as
investigações levadas a cabo pelas sucessivas correntes artísticas – a exemplo do
impressionismo, mas também anteriores – que, ao longo do século XIX, abriram espaço
para a autonomia da cor enquanto linguagem independente, em diálogo com as
investigações científicas sobre a percepção.
54 O argumento deste autor diferencia-se dos anteriores, pois aqueles a princípio
descartam a noção de natureza proposta por Lévi-Strauss. Eco (1968), na medida em
que rejeita o argumento da “dupla articulação”, e também Quilliot (2012) defendem que
há uma autonomia do intelecto na invenção de formas autônomas, enquanto Wiseman
(2007) parte do princípio de que as imagens (e com ela, todas as propriedades da forma
artística) emergem do pensamento porque estão necessariamente inscritas no mesmo
substrato que as formas naturais. Pensar é uma função a um só passo natural e cultural,
segundo a teoria lévi-straussiana, de maneira que a emergência de cores na imaginação
já serve de indício quanto à sua indexação natural no corpo humano que, conforme
vimos com Descola (2010), consegue decodificar estímulos na medida em que
compartilha determinadas estruturas de relações com o meio natural.
55 Mas se a perspectiva de Wiseman nos parece neste ponto mais ajustada ao modelo
proposto por Lévi-Strauss, por outro lado ela também dá vazão a questionamentos, em
particular porque não há consenso quanto à capacidade de significação das relações
entre elementos abstratos em pintura. Wiseman (2007) cita o exemplo de Kandinsky.
Segundo o analista, este pintor
reconheceu que formas, geométricas ou não, e cores possuem sua própria
‘ressonância interna’. Por exemplo, ele viu diferentes tipos de triângulos [...] como
‘seres espirituais’, cada qual com sua própria identidade, seu próprio ‘tom’ (ou
‘perfume’), cuja distintividade se manifesta quando são colocados perto de outras
formas. A ‘ressonância’ de cada elemento pictórico – o ‘tom’ distinto que ele emite
ou, em terminologia estruturalista, seu valor semântico – pode ser modificada
(modulada) tanto pela modificação da forma ou da cor em si, quanto por
justaposição com outros elementos pictóricos. Não há tons ‘puros’ na arte abstrata,
pois o elementos pictóricos, como o ponto [...] devem ser considerados em relação
com outros elementos. (Wiseman 2007:115)
56 Embora voltado a mostrar que formas abstratas possuem capacidade de significação, o
trecho também dá vazão a pensar no contrário, pois a “ressonância” do elemento
pictórico poderia pertencer a um plano não-significativo, funcionando mais ao nível da
imagem do que do conceito. Assim, a “ressonância” de um triângulo poderia estar
imediatamente ligada à emoção estética, mas não à significação. Há ainda a
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
126
possibilidade de que algum tipo de significação pudesse ocorrer, mas num plano
individual e/ou ao nível de um grupo restrito. Com isto, poderíamos também reabrir o
tópico elaborado por Quilliot (2012), perguntando-nos em que medida a aceitação da
arte abstrata pode ser decorrente de sua capacidade de produzir emoção estética num
período de restrição cada vez maior dos espaços que possibilitam experimentar o
pertencimento a uma ordem cósmica e extra-cultural12.
57 Já o cubismo, segundo Lévi-Strauss, enfrentaria o problema inverso. A esse respeito,
Wiseman (2007) considera que o que aquele antropólogo
não vê ou aprecia é a capacidade de novas formas de arte forjarem suas próprias
ferramentas expressivas, para criar seus próprios idiomas estéticos,
independentemente dos (ou em oposição aos) códigos já reconhecidos por qualquer
grupo determinado. (Wiseman 2007:126)
58 Alternativamente, nos parece interessante pensar que Lévi-Strauss reconhece essa
capacidade e que sua crítica ao cubismo assume antes o sentido de preocupação
fundamental com uma função “comunicativa” ou coletiva da arte. Destarte, a pergunta
que traduz essa indagação diria respeito a como se constituem as linguagens capazes de
operar uma transformação estrutural nas formas de conhecer e relacionar-se com o
mundo sensível. No marco do pensamento lévi-straussiano, uma das condições
fundamentais para que a arte possa cumprir esse papel é constituir-se como uma
linguagem com grande poder de comunicação – o que depende precisamente da ideia
de emoção estética: uma dimensão primordial, relacionada ao próprio processo de
inserção na (e experimentação sensorial ou conhecimento da) natureza, e portanto,
fundamental para uma unidade inquebrantável, ou que deveria ser tomada enquanto
tal, segundo Lévi-Strauss: referimo-nos ao par natureza e cultura.
59 Conforme observa Hénaff (1998), o cubismo simboliza um movimento mais amplo de
ruptura radical entre a arte e natureza, segundo a perspectiva de um
antropólogo que assiste, de luto, como a humanidade se fecha em suas próprias
produções. Com resultados frequentemente desastrosos, desde a Renascença a
sociedade ocidental desenvolveu um projeto de dominação cujo objetivo era reduzir
o mundo natural ao papel de matéria a ser transformada, sem que as consequências
de tal violência fossem jamais avaliadas [...] A arte moderna testemunha essa
posição lamentável. (Hénaff 1998:204-205)
60 Mas não apenas a natureza está ameaçada, adverte Hénaff (1998): “A ruptura com o
mundo natural, por meio do corte da fonte profunda e necessária de toda criação, força
o ocidente a voltar-se para as culturas que ainda estão vivas, para miná-las naquilo que
cada vez mais lhe falta: sensações, energia, obras” (Hénaff 1998:205). Logo, o problema
da arte é o problema do ocidente. Mas se isto é verdade, em que medida a própria arte
se torna capaz de apontar caminhos distintos para superá-lo?
61 É importante deter-se na questão por um momento. Em primeiro lugar, seria válido
pensar uma forma de arte ocidental que, a princípio, assume o papel de realizar a
crítica da arte ocidental: ao substituir a representação pelo próprio objeto, o ready-made
torna-se “um objeto num contexto de objetos” (Lévi-Strauss 1969:95), o que aponta para
a intenção de destituir a obra de arte de qualquer aspiração de valor superior,
questionando a própria cultura que lhe atribui tal posição, além de denunciar o papel
do mercado como definidor do que seja arte.
62 Não obstante, Lévi-Strauss revela que essa crítica não é suficiente, pois concorre para o
rompimento com o mundo natural e anuncia
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
127
o caso extremo de uma civilização completamente aprisionada que fosse, em seu
universo técnico e material, e que o ordenaria de acordo com diferentes estilos: um
estilo seria mais utilitário e científico, enquanto outro seria mais livre e artístico, a
diferença entre os dois dependendo apenas do arranjo entre eles. (Lévi-Strauss
1969:95-96)
63 Descrita como uma espécie de anti-utopia, a cena alude a um mundo de artefatos
continuadamente rearranjados e vai além: faz vislumbrar o desespero do humano que,
refém de seus próprios esforços de conceitualização, vê perdida a capacidade de sentir
emoção estética, sem a qual a própria significação é impossível. Diante dessa
impossibilidade, resta exprimir objetos por meio de objetos – no fundo, os únicos
conceitos que podem ser idênticos a si mesmos.
64 A ideia de colecionar e recombinar objetos, no entender do antropólogo, não é nova e
lembra o gosto pelas coleções de conchas do maneirista florentino Benvenutto Cellini,
ou o costume dos pré-revolucionários franceses de presentear minérios e conchas uns
aos outros. A exemplo desses colecionismos, o ready-made tenderia a neutralizar a
emoção estética:
Os homens se cansariam dessa situação, pois afinal, as combinações que
mencionamos, os rearranjos de objetos com a finalidade de trazer à tona suas
propriedades latentes, são perfeitamente concebíveis, mas muito limitadas; após
um tempo, todas as possibilidades estariam exauridas. (Lévi-Strauss 1969:98)
65 Georges Chabonnier, ao discutir o ready-made com Lévi-Strauss (1969), argumenta que
esse tipo de objeto mostra que a realidade é per se uma obra de arte – e portanto, que a
arte prescinde do humano. Já a resposta do antropólogo, cotejada acima, suscita
concluir que, embora seja lícito pensar que o ready-made cumpre o papel de crítica ao
sistema de criação de circulação de obras e aos processos de individualização do artista
como gênio criador, ele se resume ao objeto pré-fabricado, que por sua vez é incapaz de
incorporar sua crítica numa solução material (re)construtiva da relação natureza/
cultura13.
66 Se isto procede, é preciso retornar a artistas que Lévi-Strauss admira, a fim de
identificar as qualidades definidoras da verdadeira arte, segundo seu juízo crítico. No
início, mencionamos Max Ernst que, segundo o antropólogo, soube testemunhar
noutros sítios um poderoso sentimento da natureza, através de imaginárias
paisagens revelando cidadelas longínquas ou florestas que parecem prestes a
proliferar para fora da tela, amontoados pedregosos e cores minerais animadas de
olhos, de espumas e de insectos: quadros de que a matéria forte e a feitura apurada
sugerem outras afinidades, com Gustave Moreau, Gustave Doré e John Martin; mais
longe no espaço, com os escultores índios da costa noroeste do Pacífico, e mais
longe no tempo, com Dürer. (Lévi-Strauss 1983:345)
67 O trecho mostra como Ernst preservou diálogos fundamentais com uma tradição
artística muito além da ocidental. Seu interesse pela natureza (que se revela como um
“poderoso sentimento”) é capaz de “proliferar para fora da tela”, não apenas no que
concerne à significação do mundo natural, mas também a topografias imaginárias
constituídas em diversos espaços-tempos da experiência artística. Dada à
heterogeneidade do conjunto, é graças a esse “poderoso sentimento de natureza” que
se pode agrupá-los. A ideia de um tal sentimento parece resumir a qualidade que Lévi-
Strauss procura encontrar no ofício do artista: há aí uma intuição sensível aguçada e
um desejo de saber típicos do bricoleur, que caminham juntos. A combinação revela algo
que o artista e seu público compartilham, qual seja, o pensamento selvagem como
procedimento de investigação e vivência do mundo natural.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
128
68 Entendê-lo, por sua vez, exige do analista um discernimento sutil entre o que Lévi-
Strauss define como consideração subjetiva do artista e uma consideração objetiva que
visa apreender a natureza.
Consideramos subjectivamente medas de feno quando nos entregamos a passar
para uma série de telas as impressões momentâneas que elas provocam no olhar do
pintor a esta ou aquela hora do dia e sob esta ou aquela luz; mas renunciamos no
mesmo momento a fazer o espectador discernir intuitivamente o que é, em si
mesma, uma meda de feno. (Lévi-Strauss 1983:348)
69 O trecho reitera, portanto, que é preciso que a arte provenha o público de uma dose de
informação objetiva, a fim de propiciar um alargamento da compreensão dos objetos –
ainda que sem descuidar do subjetivo, pois de outra maneira, bastaria observá-los.
70 O segundo exemplo que ganha destaque na crítica de Lévi-Strauss, nesse sentido, é o de
Anita Albus, cuja “atenção apaixonada”
é feita de ternura por todos os seres vivos: quadrúpedes, pássaros, folhas e flores,
servida por um escrúpulo de exatidão que rivaliza com o do naturalismo. Mas [...]
Anita Albus não se propõe copiar simplesmente estes modelos: ela aprofunda o
conhecimento que deles temos, reencontrando, com o gesto da mão e o movimento
do pincel, o impulso da criação natural. (Lévi-Strauss 1983:352)
71 A artista ainda revela uma ambição de “pôr a pintura ao serviço do conhecimento e
fazer da emoção estética um efeito de coalescência, dada instantânea pela obra, das
propriedades sensíveis das coisas e das suas propriedades inteligíveis” (Lévi-Strauss
1983: 352-353). O vínculo com o natural, portanto se confirma, bem como a coesão
intrínseca entre sensível e inteligível – fonte da emoção estética. O elogio à artista
parece coadunado a um reconhecimento de um esforço minucioso do artista para
transmutar as propriedades do mundo natural à tela, à luz de uma capacidade de
observação subjetiva. Nos dois exemplos, prevalece um esforço para acentuar a conexão
entre criador e o universo circundante. Um diferencial de Ernst e Albus é, portanto, que
sua arte se propõe a significar os objetos naturais.
72 Mas as coincidências não terminam nesse ponto. Anita Albus, como descreve Lévi-
Strauss, explora um jogo colecionista de curiosidades heteróclitas em minúcia de
detalhes; enigmas, não raro codificados em citações pictóricas (e nesse sentido, há que
destacar a reverência de Lévi-Strauss à constituição do métier artístico como uma
interlocução entre esquemas – o que é fundamental para a função comunicante da
arte); reaviva a tradição do trompe l’oeil; opera rearranjos e encontros entre objetos,
como o guarda-chuva e a máquina de costura sobre a mesa de anatomia (a associação é
do próprio antropólogo); e estabelece um diálogo com o surrealismo 14, além da arte
nórdica e germânica medieval. Logo, trata-se de um tipo de obra que oferece uma série
de elementos para a imaginação e o intelecto, que assim são desafiados e decifrar
imagens e questionar suas próprias limitações diante do universo, mas com base num
apelo à memória de seus conhecimentos sobre arte e natureza.
73 Os exemplos de Max Ernst e Anita Albus, na prosa de Lévi-Strauss, mostram-se
radicalmente distintos de sua avaliação sobre o impressionismo, o cubismo, a arte
abstrata e o ready-made. Se por um lado, arremessam o leitor em direção a um novo
universo de possibilidades para a apreciação artística, por outro inauguram
dificuldades, na medida em que convidam a uma transformação fundamental em
modalidades correntes do ver.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
129
74 Se é válido afirmar que sua obra produz “significação” e “emoção estética”, é porque
terá conseguido reabrir o segredo da arte como produtora de “imagens de coisas vivas”
(Sekyen apud Lévi-Strauss 1983:353), devidamente transpostas à superfície plástica.
“Significação” e “emoção estética”, constituem, nesse marco, aspectos de uma união
indissociável entre cultura e natureza, reatualizada diante da arte.
75 É, evidentemente, impossível (e também desnecessário) validar a crítica do antropólogo
sobre arte. Em sendo crítica, nos parece mais interessante tomá-la como janela para a
imaginação. À luz do trajeto empreendido – e que não pretendeu senão um sobrevoo
inicial sobre esse universo reflexivo – podemos pensar que “significação” e “emoção
estética” adquirem peso fundamental no juízo crítico do antropólogo e se tornam as
balizas para uma restituição da arte a um lugar central na experiência coletiva. Talvez
seja lícito, nesse sentido, ver o chamado por trás desses conceitos menos pelo viés do
rechaço a determinados estilos, movimentos e escolas – que no mais parecem ter
cumprido um papel importante para a presente crítica a uma maneira ocidental de
encarar arte –, e mais para que, diante de certos objetos, não deixemos de nos
perguntar sobre as aprendizagens que ele armazena a respeito do mundo natural, seja-
nos ele exterior ou aquele guardado no interior de nossos aparatos perceptivos mais
fundamentais.
BIBLIOGRAFIA
Derrida, Jacques. 2005. Writing and Difference. London: Routledge Classics.
Descola, Philippe. 2010. “The two natures of Lévi-Strauss”. Pp. 103-117, in The Cambridge
Companion to Lévi-Strauss, B. Wiseman, (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
Distel, Anne. 1974. Impressionism. New York: Metropolitan Museum of Art.
Eco, Umberto. 1968. La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Editora Lumen.
Eribon, Didier. 2005. De perto e de longe. São Paulo: CosacNaify.
Hénaff, Marcel. 1998. “The Lesson of the Work of Art”. Pp. 190-213, in Hénaff, Marcel, Claude Lévi-
Strauss and the Making of Structural Anthropology. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Imbert, Claude. 2006. Maurice Merleau-Ponty. Paris: Association pour la Diffusion de la Pensée
Française.
Keck, Frédéric. 2010. “The limits of classification: Claude Lévi-Strauss and Mary Douglas”. Pp.
139-154, in The Cambridge Companion to Lévi-Strauss, B. Wiseman, (ed.), Cambridge: Cambridge
University Press.
Lautréamont, Germain-Nouveau. Oeuvres Complètes. Paris, Gallimard/La Pléiade, 1970.
Lenoir, Timothy. 1998. “Inscription practices and materialities of communication”. Pp. 1-19, in:
Inscribing Science: Scientific Texts and the Materiality of Communication, T. Lenoir (ed.), Stanford:
Stanford University Press.
Lévi-Strauss, Claude. 2008. O pensamento selvagem. Campinas: Papirus Editora.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
130
_____. 1969. Conversations with Georges Charbonnier. London: Jonathan Cape.
_____. 1983. “Uma pintura meditativa”. In: O olhar distanciado. Lisboa: Edições 70.
Lévi-Strauss, Claude; Eribon, Didier. 2005. De perto e de longe. São Paulo: CosacNaify.
Lima, A. S. E. 1994. “Arte e estruturalismo”. Revista Portuguesa de Filosofia, 50: 393-409.
Maniglier, Patrice. 2002. Le vocabulaire de Lévi-Strauss. Paris: Ellipses.
Merquior, José Guilherme. 1975. A estética de Lévi-Strauss. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
Passetti, Dorothea V. V. 2008. Lévi-Strauss, antropologia e arte: minúsculo, incomensurável. São Paulo:
Edusp & Editora da PUC-SP.
Petitot, Jean. 2010. “Morphology and structural aesthetics: from Goethe to Lévi-Strauss”. Pp.
275-295, in The Cambridge Companion to Lévi-Strauss, B. Wiseman, (ed.), Cambridge: Cambridge
University Press,.
Quilliot, Roland. 2012. “Lévi-Strauss et l’art modern”. Hermeneia, n. 12: 254-269.
Rocha, Atílio da Silva Estanqueiro (1994). “Arte e estruturalismo”. Revista portuguesa de filosofia, n.
50:393-409.
Schapiro, Meyer. 1997. Impressionism: reflections and perceptions. New York: George Braziller.
Simonis, Yvan. 1980. Claude Lévi-Strauss: Ou, La Passion de L'inceste. Introduction Au Structuralisme.
Paris: Flammarion.
Taylor, Joshua C. 1987. Nineteenth-century Theories of Art. Berkeley & Los Angeles: University of
California Press.
Tinterow, Gary; Loyrette, Henri. 1994. Origins of Impressionism. New York: Metropolitan Museum
of Art.
Wiseman, Boris. 2007. Ideas in Context. Lévi-Strauss, Anthropology, and Aesthetics. Cambridge:
Cambridge University Press.
_____. 2010. “Structure and sensation”. Pp. 296-314, in: The Cambridge Companion to Lévi-Strauss, B.
Wiseman (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
NOTAS
1. Neste artigo, as traduções de trechos extraídos de obras em língua estrangeira são livres.
2. Em Entrevista a Didier Eribon, o antropólogo reafirma seu apreço por Ernst e o fato das
Mitológicas procederem uma colagem semelhante às do surrealista. Cf. Lévi-Strauss & Eribon
2005:57.
3. O exemplo clássico discutido em “O pensamento selvagem” é a tela Elizabeth d'Autriche, de
François Clouet (1571), atualmente no Louvre, em Paris.
4. Ver também Petitot (2010) e Keck (2010). O primeiro aponta para uma particularidade da noção
de estrutura de Lévi-Strauss, que se refere menos a uma estrutura de linguagem e mais a
estruturas imanentes ao sensível. Não por acaso, o antropólogo teria elegido como modelos o
“Tratado das proporções do corpo humano”, de Dürer; e “A metamorfose das plantas”, de Goethe
– o que também seria um indício de sua afinidade com as teorias da Gestalt. Keck discute a lógica
do sensível, buscando compreender o papel da natureza nesse processo.
5. Maniglier (2002) complementa tal reflexão, assinalando que “não há contradição, nem
exterioridade entre a busca de sentido da humanidade e a realidade física do mundo” (p. 41).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
131
6. E sob esse aspecto, vale lembrar que “o que caracteriza o conceito lévi-straussiano de estrutura
é a insistência na noção de transformação: ‘Hoje nenhuma ciência pode considerar as estruturas
relevantes em seu domínio ao reduzi-las a um arranjo qualquer de partes quaisquer. Não é
estruturado senão o arranjo que responde a duas condições: é um sistema, regido por uma coesão
interna; e esta coesão, inacessível na observação de um sistema isolado, se revela no estudo das
transformações, graças às quais encontramos propriedades similares nos sistemas
aparentemente diferentes’” (Maniglier 2002:47).
7. O termo “objeto” aqui é sugestivo. Refere-se ao que serve de modelo à arte e, ao mesmo tempo,
suscita a rever a relação dialética entre sujeito e objeto, em que todo conhecimento das coisas só
é possível na maneira em que elas se pensam nos sujeitos.
8. Ou ainda, como se as palavras refletissem sem interferência alguma uma relação unívoca entre
ideias e coisas; e as ideias prescindissem das coisas na definição de mundo. Cf. Lenoir 1998.
9. Comunicação, em Lévi-Strauss, tem uma “natureza dupla”, a uma só vez física e semântica. A
ideia de comunicação, entendida simultaneamente como “circulação” (de bens, de mulheres e de
palavras, por exemplo) e “compreensão” recíproca (diálogo), pressupõe que a totalidade da vida
social e o acesso à vida simbólica são indissociáveis; uma não existe sem o outro (cf. Maniglier
2002:12); quando se perde a capacidade de significar a existência a partir de sua concretude (as
relações natureza/cultura), amplia-se a incomunicabilidade, a tendência à individualização e à
desumanização.
10. Não se deve supor, no entanto, que a ciência esteja operando apenas com base em conceitos e
vice-versa. O modelo pressupõe que cientista e bricoleur, assim como o artista, podem percorrer a
gama de possibilidades contida no interior do signo. Nesse sentido, enquanto método e teoria de
análise, Lévi-Strauss abre múltiplas possibilidades para a leitura do mito, da arte e da própria
ciência. A riqueza está justamente nas possibilidades de transformação que medeiam as relações
entre um e outro elemento.
11. Mas neste caso, há que não esquecer que na juventude Lévi-Strauss recebeu com grande
entusiasmo o início do cubismo e especialmente, a obra de Picasso. Cf. Passetti, 2008.
12. De todo modo, é preciso reconhecer o quanto não seria importante problematizar a ideia de
um alcance da arte abstrata, refletindo inclusive sobre sua difusão como um fenômeno de
mercado, ou seja, segundo uma lógica de consumo.
13. Cf. também Wiseman (2007): “Com os ready-mades de Duchamp, esta agência [aquela do
artista criador, descolada para a natureza no caso das conchas de Cellini] é novamente deslocada
para a cultura e assimilada às forças anônimas da produção em massa, que modelam o novo
ambiente urbano. A máquina se torna o artista” (Wiseman 2007:152) ou “a cultura se torna o
duplo da natureza” (Wiseman 2007:153).
14. Com uma diferença: “em lugar de pedir a um objecto que seja outra coisa diferente daquilo
que ele é, [Anita Albus] aplica-se com uma precisão minuciosa a dar a armação e o pregueado de
um tecido, ou, precisamente, os veios e o grão de uma velha madeira. Nós vêmo-los então como já
não sabíamos fazer, ou tínhamos esquecido que se podia vê-los” (Lévi-Strauss 1983:357).
RESUMOS
Este artigo aborda algumas considerações de Claude Lévi-Strauss sobre arte, discutindo as críticas
dirigidas pelo autor ao impressionismo, cubismo, pintura abstrata e ready-made à luz de uma
definição de arte que, conforme sua obra, leva em conta a capacidade do objeto artístico de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
132
produzir significação e emoção estética. As reflexões beneficiam-se do diálogo com um conjunto de
autores que procuraram aprofundar uma teoria estética lévi-straussiana, com o objetivo de
pensar o estatuto atribuído pelo antropólogo à arte ocidental e as possibilidades de perceber
certas razões de uma crítica de arte em sua obra.
This article addresses some of Lévi-Strauss’ considerations on art, by discussing his critiques of
Impressionism, Cubism, abstract painting and ready-made under the light of a definition of art
that, accordingly to his work, takes into account the capacity of artistic objects to produce
meaning and aesthetic emotion. These reflections benefit from a dialogue with a group of authors
who sought to deepen the understanding of Levi-Straussian aesthetic theory, with the purpose of
reflecting upon the status attributed by the anthropologist to Western art and the possibilities of
perceiving the rationale for art criticism in his work.
ÍNDICE
Keywords: Lévi-Strauss, art, avant-garde, criticism
Palavras-chave: Lévi-Strauss, arte, vanguardas, crítica
AUTOR
TATIANA LOTIERZO
Universidade de São Paulo
Mestranda em Antropologia Social. Durante o mestrado, fui agraciada com bolsas CAPES e
FAPESP – o que viabilizou, dentre muitos processos, a produção deste artigo.
tatiana.lotierzo@usp.br
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
133
Ensaios (audio)visuais
(Audio)visual essays
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
134
Trayectorias (sobre ruedas): un
ensayo visual sobre los carritos de
supermercado en la ciudad
Trajectories (on wheels): a visual essay on shopping trolleys in the city
Edgar Gómez Cruz
Un mirar de bicicleta, a manera de introducción
Para el flâneur su ciudad ya no es su patria, sino
que representa su escenario.
Walter Benjamin
El espacio es un cruzamiento de movilidades
Michel De Certeau
1 Después de muchos años de vivir en Barcelona comencé a utilizar la bicicleta para
transportarme. Me suscribí a Bicing, un servicio que permite utilizar una bicicleta por
30 minutos y que se utiliza como una alternativa sustentable y ecológica al transporte
público tradicional1. Hasta ese momento, y dado el tamaño asequible de la ciudad,
siempre me había movido caminando o usando el metro. El uso de la bicicleta
transformó mi relación con la ciudad, con el movimiento, con la gente y hasta con el
clima (en verano sudaba copiosamente mientras que en invierno era necesario el uso de
guantes que antes nunca usé). No sólo eso, el uso de la bicicleta también transformó la
forma en la que miraba. La percepción de la ciudad a una velocidad más rápida que
caminando, el ser parte del tráfico pero seguir pensando como peatón, la cantidad de
cosas que podía mirar y la distancia que con respecto a ellas tenía mi movimiento
ciclista, todo ello generaba una forma distinta de percibir mi entorno y la ciudad como
un todo. Es precisamente el resultado de ese mirar continuo – a los autos, a los
peatones, a las señales de tránsito, a la gente – la que me llevó un día, camino a la
oficina en donde trabajaba en ese entonces, a darme cuenta de la gran cantidad de
personas, sobre todo de origen africano, que me encontraba en mi trayecto. La mayoría
de las veces los encontraba empujando un carrito de supermercado lleno de chatarra u
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
135
objetos que habían encontrado en los depósitos de basura. En algunas ocasiones estas
personas transitaban por los carriles bici por lo que no podía evitar mirarlos, en otras
iban en paralelo por la acera o se cruzaban cuando me tocaba parar en algún semáforo.
Este medio no se puede ver aquí. Por favor refiérase a la edición en línea http://
2 journals.openedition.org/cadernosaa/201
3 Un día, confieso que más por estar aburrido que por un interés específico, saqué mi
teléfono móvil y le tomé una foto al chico que iba empujando su inseparable carrito que
ya no era de supermercado sino de supervivencia. Solía hacerlo, fotografiar cosas que
me llamaban la atención cuando podía hacer uso de mi teléfono (y en algunas ocasiones
en las que no debía haberlo hecho, con la bicicleta en movimiento) pero fue esa primera
imagen la que comenzó lo que podría denominarse una “serie”, en términos
fotográficos, sobre los carros de supermercado. Comenzó en Barcelona y en bicicleta
pero continuó cada vez que observaba carritos de supermercado fuera del entorno para
el que fueron construidos. Así, en este ensayo visual hay mayoritariamente imágenes de
Barcelona. Sin embargo decidí incluir algunas de San Francisco, Chicago y México para
mostrar cómo, con cierta independencia de las características propias del lugar, la
situación se repite con cierta homogeneidad y nos muestra con claridad que las
desigualdades sociales son un problema global. Los lugares en sí mismos no tienen otra
conexión que el hecho de que viajé a ellos en el periodo de unas pocas semanas. Mi
trayectoria entonces no fue sólo por las calles de una ciudad sino por varias ciudades en
las cuales me encontré con carritos de supermercado cruzando mi camino. Aunque
estos carritos casi siempre eran utilizados para transportar cosas, resulta curiosa la
observación de que en Barcelona eran utilizados más como instrumento de trabajo
mientras que en Estados Unidos funcionaban como un hogar móvil.
4 El ejercicio visual que aquí se presenta tiene tres objetivos que se sugieren apenas como
un bosquejo, una serie de apuntes para una agenda futura: a) Servir como ejemplo para
la discusión sobre las posibilidades de recolección de registros visuales/digitales/
móviles para la investigación. b) Reflexionar sobre nuestra posición como
investigadores en entornos urbanos, móviles y digitales utilizando el concepto de
trayectorias como concepto de trabajo y c) Discutir la emergencia de una agenda de
investigación etnográfica basada en dichas trayectorias, en este caso utilizando el
ejemplo de los carritos de supermercado. La serie de fotos que constituye el centro de
este ensayo no difiere mucho de las “aventuras narradas” que planteaba De Certeau y
que “producen geografías de acciones y derivan hacia los lugares comunes de un
orden…organizan los andares” (De Certeau 1996: 128).
Una trayectoria de (des)encuentros. Haciendo la
ciudad sobre ruedas
5 Diariamente hacía el trayecto de mi casa a la oficina recorriendo un mismo camino (ver
Fig. 1). Pasaba, de un barrio tradicionalmente obrero y anarquista como lo es Sants, al
nuevo polo tecnológico de Barcelona, el Poble Nou. Al hacer este trayecto, cruzaba el
Passeig de Gràcia y el Eixample, lugares centrales de la actividad financiera y cultural de
la ciudad, donde el comercio, el turismo y la Barcelona tradicional colisionan y co-
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
136
generan esa ciudad cosmopolita y europea. La Figura 1, que muestra sobre el mapa el
camino que recorría todos los días, es un primer elemento de esta reflexión visual sobre
la movilidad, la ciudad y sus actores, lo que llamaré, como un concepto de trabajo
provisional: Trayectorias.
Figura 1
6 El concepto de Trayectorias pretende dialogar con el trabajo de Pink sobre la
visualidad, la movilidad y el método etnográfico (2008, 2007a, 2007b). En su trabajo Pink
(2008) se interesa por lo que el etnógrafo o etnógrafa puede aprender de cómo las
personas “crean, usan, narran y visualizan rutas de movimiento en contextos urbanos
para representar formas de experimentar un pueblo/ciudad” (en línea). Mientras que el
planteamiento de Pink se centra en la construcción de la espacialidad y el
emplazamiento por parte de nuestros informantes, mi uso del concepto de trayectorias
contempla una mayor aleatoriedad, una mayor inocencia si se prefiere. Lo que planteo
es cómo una trayectoria, que es completamente casual y fortuita, puede convertirse en
el eje sistematizador de una observación etnográfica. Al momento de hacer visible el
objeto de una búsqueda, la constante repetición y concentración en ella puede surgir de
la aparente aleatoriedad de una trayectoria cualquiera.
7 Al ser mi trayectoria sobre la ciudad la misma todos los días y más o menos a la misma
hora (entre 9 y 10 de la mañana de ida y entre 6 y 8 de la tarde de regreso), esto me
permitía, con mucha claridad, observar continuamente el movimiento y las prácticas de
estas personas, movimiento en el cual la materialidad y uso del carrito de
supermercado es fundamental2. Curiosamente esas mismas personas que de mañana
salían a recoger la chatarra, por la tarde regresaban al Poble Nou con lo que habían
encontrado ese día mientras que yo hacía el camino inverso, ambos salíamos y
regresábamos de trabajar a la misma hora y utilizando las mismas calles, y sin embargo,
nuestra vida era opuesta. A pesar de que con este importante número de personas-
carro nuestras miradas casi nunca coincidían, nuestras trayectorias estaban
continuamente entremezcladas. Nos encontrábamos en nuestro desencuentro.
Mientras que yo cruzaba la ciudad con rumbo fijo, con el destino final de una silla y un
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
137
escritorio, su recorrido siempre revestía una mayor aleatoriedad, en el sentido más
extenso del término. Y sin embargo, siempre habitábamos el mismo espacio móvil y con
ello creábamos algunas de las cosas que resultaban distintivas de Barcelona 3,
constituíamos un lugar con nuestros encuentros. A pesar de desplazarnos a distintos
lugares, creábamos un mismo espacio4, uno efímero, en movimiento constante, en
tránsito; y al hacerlo, siguiendo con De Certeau, “hacíamos la ciudad”: ellos empujando
sus cuatro ruedas, yo montado en mis dos.
8 Mi mirada, en esta trayectoria constante, me llevó a fotografiar los carritos que me iba
encontrando por el camino y, aunque no siempre podía fotografiarlos, siempre atraían
mi mirada. Y ese mirar, ese detectar el objeto me llevó después a fotografiar los carritos
allá donde los encontrara y lo que me llevó a reflexionar sobre lo que significa que un
objeto tan particular encuentre un uso tan claro precisamente al otro lado del espectro
del consumo. Esto lo retomaré más adelante, lo importante de recalcar aquí es la
relación entre la trayectoria como desplazamiento pero también como posibilidad
teórica para el encuentro de un posible objeto de investigación o al menos de reflexión.
Este encuentro de trayectorias no sólo emplazaba a las personas y los carritos (en la
ciudad, en la cotidianeidad social) sino a mí mismo como investigador. Al emplazar las
imágenes también me estaba localizando como un interesado en ellas, como un
observador interesado en la tradición del flâneur propuesto por Benjamin pero con el
elemento añadido de la mayor velocidad que aportaba el andar en bicicleta y de los
recursos técnicos de mi teléfono móvil. Si, como apunta De Certeau (2007: 109), otro de
los pensadores que utilizaba el término: “Las variedades de pasos son hechuras de
espacios”, mis variedades en velocidades, y mi mirar fotográfico, construíamos un
espacio de reflexión etnográfica.
A manera de nota metodológica y ética
9 Las imágenes son poderosos dispositivos que no se limitan a una mera representación.
La idea con estas fotos era poder, contrario a la abstracción y por ende
descontextualización de las imágenes, dotarlas de una relación directa con mi transitar
por la ciudad, con mi experiencia y sensación de la misma. La idea era dar cuenta de
esos encuentros que no tienen nada de fortuitos, que están claramente marcados por la
temporalidad y los recorridos pero que al mismo tiempo siempre tienen algo de
aleatorios y casuales. Cuando yo me desplazo a la oficina ellos salen en su búsqueda,
cuando yo salgo y voy rumbo a casa, ellos vuelven con su mejor o peor tesoro, como
pescadores urbanos que tienen mejores o peores días. Un encuentro de movimientos,
de subjetividades móviles que transitaban la ciudad –y la vida– en direcciones opuestas
pero siempre en colisión, en tránsito. Mi encuentro con ellos siempre era en
movimiento, a veces literalmente apuntaba la cámara y disparaba mientras la bicicleta
iba rodando y ellos cruzaban una calle o cargaban el carrito con chatarra que iban
encontrando.
10 La elección estética no es gratuita pero en muchas ocasiones también resultaba un
accidente. Aunque mi intención/elección era hacer fotos con una combinación
específica5, una que no permitía modificaciones posteriores, que generaba un blanco y
negro contrastado y con poco detalle y que acentuaría la distorsión del movimiento
continuo, el mío y el de ellos, en muchas ocasiones tuve que disparar con la cámara
normal del móvil o con alguna otra combinación de lente/cámara en la app. Pero esto
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
138
también sirve de reflexión para la aleatoriedad y movilidad en la creación de imágenes,
la rapidez por sobre la precisión. Baudelaire planteaba, sobre el pintor en la vida
moderna, que para dar cuenta de ciertos aspectos de la cotidianeidad: “el medio más
expeditivo y menos costoso es evidentemente el mejor”. Ello debido a que “hay en la
vida trivial, en la metamorfosis cotidiana de las cosas exteriores, un movimiento rápido
que impone al artista la misma velocidad de ejecución” 6.
11 No esquivo ni me abstraigo de la posible crítica sobre la ética de estas imágenes. Es
claro que, a final de cuentas, es un ejemplo más del poder de quien mira por sobre
quien es mirado. Soy consciente de ello. Sin embargo, al reflexionar sobre ello y
plantearlo desde el concepto de trayectorias, mi deseo no es otro que el de visibilizar
nuestros encuentros, siempre móviles, siempre sobre ruedas, siempre efímeros, en
tránsito y transitorios, al mismo tiempo que reflexiono sobre la ciudad como urbe de
encuentros, de des(encuentros) y, finalmente, sobre mi posición como investigador
dentro de la misma trayectoria. No conozco las historias de quienes empujaban o
jalaban los carritos, tengo apenas ciertos rastros del sentido común y lo que
esporádicamente aparece en la prensa7. Nunca hablé con ellos y lo más cercano que
hubo a un contacto fue alguna mirada que pretendía servir como señal de paso por una
calle. Esto no es, por tanto, una observación etnográfica o una reflexión visual sobre su
quehacer. Es apenas un ejercicio de observación en movimiento que pretende servir
como inicio de una discusión sobre lo visual, lo móvil, lo representable y la experiencia
de la ciudad, sobre nuestras trayectorias cotidianas y su potencial investigativo en
conjunción con el dispositivo conectivo-visual que representa el móvil 8.
Los carritos del supermercado: del consumo masivo a
la materialización de la pobreza
12 La aparición de lo que conocemos como supermercados puede ser visto como la
consecuencia directa de un complejo reordenamiento de diversos fenómenos. Por
ejemplo la aparición de la publicidad masiva, el crecimiento de distintas marcas de los
mismos productos, la reorganización de los sistemas de distribución y la emergencia de
la “administración científica” como modelo de negocio (Grandclement 2006). En ese
sentido, la aparición del carrito de supermercado en 1936 en Estados Unidos es la
continuación precisamente del crecimiento del consumo masivo entre los años 30s y
50s (Cochoy 2009). Diversos elementos contribuyeron a este hecho: el mejoramiento de
los sistemas de refrigeración casera (que permitían tener más productos en
conservación), el crecimiento en la variedad de productos, la masificación del
automóvil, la publicidad y el auto-servicio. En ese cambiante contexto se requería un
sistema sencillo para que los clientes pudieran mover los productos que adquirían sin
necesidad de depender de su fuerza para cargarlos, no sólo dentro de la tienda sino
hasta sus automóviles9. La primera publicidad del carro, inventado por Sylvan Goldman,
mostraba a una mujer cargando con dificultad una bolsa y una canasta mientras que el
texto apuntaba: “No más de esto en tu tienda común”.
13 La historia resulta irónica puesto que estos dispositivos para la comodidad en el
creciente consumo comenzaron a utilizarse por personas, especialmente sin hogar,
como dispositivos de movilización de las pocas pertenencias que tenían. El carrito pasó
entonces, de ser una ayuda en el proceso de consumir más, a ser una ayuda
indispensable para quienes tienen menos, para quienes están fuera del circuito del
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
139
consumo. En el caso de Barcelona, como en muchos otros lugares, se utiliza también
como instrumento de trabajo. Un trabajo que depende precisamente de los excesos
propios (y propiciados) por el mismo consumo que generó el dispositivo. Y esto es
justamente lo que hace que los carritos de supermercado sean un ejemplo tan
irónicamente fascinante sobre nuestra sociedad, sobre la cultura material en el
capitalismo y, como intento mostrarlo en estas imágenes, sobre nuestra posición como
investigadores en las trayectorias por la ciudad. Estos dispositivos, creados para
facilitar la compra y movilidad de una mayor cantidad de productos, son ahora
reconvertidos en herramienta de trabajo para la recolección de los mismos excesos que
las rutinas de consumo, y los ciclos de obsolescencia cada vez más cortos, vierten en las
calles de la ciudad10.
14 Hace poco tiempo estuve en San Francisco. Mientras disfrutaba una actuación
improvisada de músicos en un parque, mi atención se desvió hacia una persona que iba
recogiendo, una por una, las botellas que los paseantes, músicos y espectadores iban
dejando por ahí. Más tarde se estacionó junto a un depósito de basura y, con la música
de fondo, pasó un rato hurgando en busca de material que le sirviera. Toda su
recolección se apilaba en el carrito de supermercado que conducía. Teresa Gowan, en su
trabajo sobre las personas sin hogar en San Francisco 11 plantea que, al estar fuera de la
fuerza laboral, las estrategias de las personas sin hogar caen en un “área gris entre lo
lícito y lo ilícito, entre la indudable criminalidad y la emprendeduría callejera” (Gowan
2007: 233), siendo la recolección de residuos para reciclar unas de las principales
actividades. Curiosamente, Gowan apunta que “el hacer dinero rara vez aparecía como
el único propósito del trabajo” de quienes ella llama “recolectores pro” (Ibid., 234).
Éstos, apunta Gowan, “utilizan su trabajo de hurgamiento para crear un espacio de
auto-respeto y solidaridad” (Ibid., 235). Gowan continua diciendo que, y es algo que
podría decirse en casi cualquier lugar, las autoridades planean constantemente retirar,
ocultar, invisibilizar a estas personas de la “mirada pública”. Esta cuestión merecería
ser investigada etnográficamente12. La pobreza, materializada y en constante
movimiento dentro de la ciudad, existe y es visible. Es precisamente su materialidad y
visualidad las que, conjugadas a partir de trayectorias móviles, pueden ser el inicio de
una reflexión etnográfica. Este es, entonces, apenas un ejemplo, una invitación para la
discusión de estas posibilidades.
BIBLIOGRAFÍA
Cochoy, Frank. 2009. “Driving a Shopping Cart from STS to Business, and the Other Way Round:
On the Introduction of Shopping Carts in American Grocery Stores (1936—1959)”. Organization
16(1): 31-55.
De Certeau, Michel. 1996. La invención de lo cotidiano (Vol. 1). Mexico: Universidad Iberoamericana.
Gowan, Teresa. 2010. Hobos, hustlers, and backsliders: Homeless in San Francisco. Minnesota: U of
Minnesota Press.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
140
Gowan, Teresa. 2009. “New Hobos or Neo-Romantic Fantasy? Urban Ethnography beyond the
Neoliberal Disconnect”. Qualitative Sociology 32(3): 231-257.
Grandclement, Catherie. 2006. Wheeling food products around the store... and away: the invention of the
shopping cart, 1936-1953. Disponible en http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/12/22/92/PDF/
WP_CSI_006.pdf
Parmeggiani, Paolo. 2009. “Going digital: Using new technologies in visual sociology”. Visual
Studies 24(1): 71-81.
Pink, Sarah. 2008. “Mobilising Visual Ethnography: Making Routes, Making Place and Making
Images”. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 9(3). http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0803362.
Pink, Sarah. 2007a. Doing visual ethnography. London: Sage.
Pink, Sarah. 2007b. “Walking with video”. Visual Studies 22(3): 240-252.
NOTAS
1. Modelo que existe en varias ciudades del mundo: Londres, París, México D.F., Buenos Aires, etc.
2. Aunque quizá sea más adecuado decir los carritos (y en algunas ocasiones con sus personas)
puesto que mi interés no estaba centrado en un grupo humano sino en la cultura material que el
objeto “carrito”, utilizado en un contexto distinto al supermercado, representaba.
3. Resulta curioso pensar que, si mi trayectoria al trabajo hubiera sido cruzando el centro de la
ciudad seguramente estaría escribiendo sobre el turismo u otra de las “subjetividades móviles”
representativas de Barcelona: Los vendedores ilegales de cerveza, mejor conocidos en el argot
barcelonés como cerveza-bier, convertidos incluso en arte: http://michelesalati.it/Souvenirs-
Modernos (Consultado el 04/11/2013)
4. Para una distinción entre lugar y espacio ver De Certeau (2007: 129).
5. Utilicé Hipstamatic con la combinación permanente de película BlackKey SuperGrain B+W y la
lente John S.
6. Disponible en http://s3.amazonaws.com/lcp/qwerty/myfiles/baudelaire.pdf (consultado el
04/11/2013)
7. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/25/catalunya/1330198632_698695.html o más
recientemente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/24/catalunya/1374646791_694482.html
(consultados el 04/11/2013)
8. Y que no es necesariamente una idea novedosa, ver por ejemplo Parmeggiani (2009).
9. Para una historia completa sobre el carro de supermercado ver Grandclement (2006).
10. Para una reflexión sobre las “políticas de la chatarra” ver el trabajo de Blanca Callén en
http://politicadechatarra.wordpress.com/
11. Ver También Gowan (2010).
12. Por ejemplo en Argentina hay un importante corpus de trabajo sobre los llamados cartoneros.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
141
RESÚMENES
El siguiente trabajo es un breve bosquejo de las posibilidades del concepto de trabajo
“trayectoria”. Una trayectoria no es sólo, en el sentido literal del término, el trazo del
movimiento sobre un camino, sino que busca establecer una reflexión sobre las posibilidades de
recolección de registros visuales/digitales/móviles para la investigación etnográfica desde la
aleatoriedad del movimiento por la ciudad. El concepto de trayectoria busca dialogar con el de
“flâneur” de De Certeau y Benjamin, y con la etnografía visual/digital, especialmente en su
vertiente sobre el movimiento propuesto por Pink. Utilizando el ejemplo de los carritos de
supermercado, se busca iniciar un diálogo sobre la posible aplicación de dichas trayectorias en la
investigación etnográfica.
The present photo-essay is a brief outline of the working-concept “trajectory”. A trajectory is not
only a trace of a movement on a path but a reflection on the possibilities of visual/digital/mobile
data recollection for ethnographic research. The concept of “trajectory” is intended to establish
a dialogue with the “flâneur” of De Certeau and Benjamin, and with visual/digital ethnography,
especially insofar as related to movement (Pink). Using as an example supermarket trolleys, the
essay aims to establish a dialogue on the application of “trajectories” in ethnographic research.
ÍNDICE
Keywords: visual ethnography, trajectory, photography, mobility, city
Palabras claves: etnografía visual, trayectoria, fotografías, movilidad, ciudad
AUTOR
EDGAR GÓMEZ CRUZ
Institute of Communication Studies, University of Leeds
E.Gomez@leeds.ac.uk
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 2, No 2 | 2013
Você também pode gostar
- Artigo SEC CerâmicaDocumento13 páginasArtigo SEC CerâmicapaulomarquesholandaAinda não há avaliações
- Arte Santeira: barro e madeira no imaginário, na devoção e no trabalho do povoNo EverandArte Santeira: barro e madeira no imaginário, na devoção e no trabalho do povoAinda não há avaliações
- O Grafismo Das Cestarias Dos Guarani M'byáDocumento58 páginasO Grafismo Das Cestarias Dos Guarani M'byáKallel CapuchoAinda não há avaliações
- Notas Sobre Os Índios Do Nordeste Brasileiro E Outras Coisas MaisNo EverandNotas Sobre Os Índios Do Nordeste Brasileiro E Outras Coisas MaisAinda não há avaliações
- Apostila de Arte Indígena - Ii Etapa-2023Documento6 páginasApostila de Arte Indígena - Ii Etapa-2023allan silva MonteiroAinda não há avaliações
- Caminhos da identidade - 2ª edição: Ensaios sobre etnicidade e multiculturalismoNo EverandCaminhos da identidade - 2ª edição: Ensaios sobre etnicidade e multiculturalismoAinda não há avaliações
- Arteindigena NaineTerena CompressedDocumento28 páginasArteindigena NaineTerena CompressedAugusto GuiradoAinda não há avaliações
- Artigo 812d0106 ArquivoDocumento10 páginasArtigo 812d0106 Arquivolurdes alexandreAinda não há avaliações
- Arte Indigena Paola TavaresDocumento18 páginasArte Indigena Paola TavaresDaiane MarquesAinda não há avaliações
- Arte Popular - Ana Mae Barbosa PDFDocumento10 páginasArte Popular - Ana Mae Barbosa PDFCristiane Carolina De Almeida SoaresAinda não há avaliações
- Arte Do Povo Artigo 2 Lelia Coelho FrotaDocumento8 páginasArte Do Povo Artigo 2 Lelia Coelho FrotaManoel MarcosAinda não há avaliações
- Arteindigena NaineTerenaDocumento28 páginasArteindigena NaineTerenaKalina Vanderlei SilvaAinda não há avaliações
- Bumbás da Amazônia: Negritude, intelectuais e folclore (Pará, 1888-1943)No EverandBumbás da Amazônia: Negritude, intelectuais e folclore (Pará, 1888-1943)Ainda não há avaliações
- Etnografia Da Obra Os Tapajó de Curt NimuendajúDocumento16 páginasEtnografia Da Obra Os Tapajó de Curt NimuendajúMoara TupinambáAinda não há avaliações
- Arte e Artefato GuaraniDocumento18 páginasArte e Artefato GuaraniThiago Cancelier DiasAinda não há avaliações
- A Invenção da Atenas Norte-Rio-Grandense: Um Sertão de História, Poesia e TradiçãoNo EverandA Invenção da Atenas Norte-Rio-Grandense: Um Sertão de História, Poesia e TradiçãoAinda não há avaliações
- Linguagem Iconografica Diss CompletaDocumento232 páginasLinguagem Iconografica Diss Completaarv2401Ainda não há avaliações
- Os Multiplos Contextos Dos Objetos IndigDocumento107 páginasOs Multiplos Contextos Dos Objetos IndigMarcoAinda não há avaliações
- Etnografía de Un Artefacto Plumario (Dorta 1981)Documento138 páginasEtnografía de Un Artefacto Plumario (Dorta 1981)Javier CazalAinda não há avaliações
- 13narrativaspolifonicas 95 112Documento18 páginas13narrativaspolifonicas 95 112zumbidomalAinda não há avaliações
- Estudos Culturais: Diálogos Entre Cultura e EducaçãoNo EverandEstudos Culturais: Diálogos Entre Cultura e EducaçãoAinda não há avaliações
- Sujeitos em Movimento - Instituições, Circulação de Saberes, Práticas Educativas e CulturaisNo EverandSujeitos em Movimento - Instituições, Circulação de Saberes, Práticas Educativas e CulturaisAinda não há avaliações
- Axó Roupas de AxéDocumento37 páginasAxó Roupas de AxéDaisy Santos0% (1)
- A Dádiva Indígena e A Dívida AntropológicaDocumento20 páginasA Dádiva Indígena e A Dívida AntropológicaarquipelagoAinda não há avaliações
- História e patrimônio cultural: Ensino, políticas e demandas contemporâneasNo EverandHistória e patrimônio cultural: Ensino, políticas e demandas contemporâneasAinda não há avaliações
- LAGROU, Els. VELTHEM, Van Hussak Lucia. As Artes Indígenas. Olhares CruzadosDocumento24 páginasLAGROU, Els. VELTHEM, Van Hussak Lucia. As Artes Indígenas. Olhares CruzadosVinicius RomeiroAinda não há avaliações
- GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Antropologia Dos ObjetosDocumento363 páginasGONÇALVES, José Reginaldo Santos. Antropologia Dos ObjetosJorge AlmeidaAinda não há avaliações
- 52033-Texto Do Artigo-209654-2-10-20190909Documento25 páginas52033-Texto Do Artigo-209654-2-10-20190909LestradeAinda não há avaliações
- Ceramica Baniwa A Educaao Patrimonial Como Instrumento de Preservaao Da Cultura MaterialDocumento9 páginasCeramica Baniwa A Educaao Patrimonial Como Instrumento de Preservaao Da Cultura MaterialPaulo HolandaAinda não há avaliações
- Da Antropofagia Tupinamba A Gambiarra - Revista ParalaxeDocumento9 páginasDa Antropofagia Tupinamba A Gambiarra - Revista ParalaxeMaria Fernanda De Mello LopesAinda não há avaliações
- Colecionismo de Arte: Um Estudo da Legitimidade Artística e Apropriação Estética da Arte PopularNo EverandColecionismo de Arte: Um Estudo da Legitimidade Artística e Apropriação Estética da Arte PopularAinda não há avaliações
- Tecituras das cidades: História, memória e culturaNo EverandTecituras das cidades: História, memória e culturaAinda não há avaliações
- Arte afro-brasileira: Identidade e artes visuais contemporâneasNo EverandArte afro-brasileira: Identidade e artes visuais contemporâneasAinda não há avaliações
- A Ceramica e Territorio BaniwaDocumento9 páginasA Ceramica e Territorio BaniwaPaulo HolandaAinda não há avaliações
- A Cobra Grande Uma Introducao A Cosmologia Dos PovDocumento6 páginasA Cobra Grande Uma Introducao A Cosmologia Dos PovRayane MaiaAinda não há avaliações
- Capoeira: abordagens socioculturais e pedagógicasNo EverandCapoeira: abordagens socioculturais e pedagógicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Passado Cultural Re-Atualizado Na Cerâmica Figurativa Karajá (Chang Whan)Documento8 páginasO Passado Cultural Re-Atualizado Na Cerâmica Figurativa Karajá (Chang Whan)Eduardo NunesAinda não há avaliações
- Ancestralidade Negro-Brasileira No Romance Ponciá Vicêncio, de Conceição EvaristoDocumento20 páginasAncestralidade Negro-Brasileira No Romance Ponciá Vicêncio, de Conceição EvaristoRicardo Freitas100% (1)
- Dissertação Clarisse Kubrusly-2007Documento154 páginasDissertação Clarisse Kubrusly-2007Anna Beatriz Zanine KoslinskiAinda não há avaliações
- CESTARIADocumento8 páginasCESTARIAHerlon Chagas Dos SantosAinda não há avaliações
- Sociedade e Cultura 1415-8566: IssnDocumento11 páginasSociedade e Cultura 1415-8566: IssnLucca GianniniAinda não há avaliações
- Diluição de Fronteiras: A Identidade Literária Indígena RenegociadaNo EverandDiluição de Fronteiras: A Identidade Literária Indígena RenegociadaAinda não há avaliações
- Aldeias Urbanas Ou Cidades Indígenas PDFDocumento22 páginasAldeias Urbanas Ou Cidades Indígenas PDFJoseph WhiteAinda não há avaliações
- Aldeias Urbanas Ou Cidades IndígenasDocumento22 páginasAldeias Urbanas Ou Cidades IndígenasAlessandro MatosAinda não há avaliações
- RESENHA - Carina Zduniak - ARAETÁDocumento5 páginasRESENHA - Carina Zduniak - ARAETÁCARINA ZDUNIAKAinda não há avaliações
- Arte e Corpo - Funarte PDFDocumento99 páginasArte e Corpo - Funarte PDFPaulo Holanda100% (3)
- Gonçalves, José Reginaldo - Antropologia - Dos - Objetos PDFDocumento252 páginasGonçalves, José Reginaldo - Antropologia - Dos - Objetos PDFRaisa LadyRedAinda não há avaliações
- Budga Deroby Nhambiquara PDFDocumento15 páginasBudga Deroby Nhambiquara PDFB9 androidAinda não há avaliações
- Artigo GOLDSTEIN, 2014. Artes Indígenas, Patrimônio Cultural e MercadoDocumento21 páginasArtigo GOLDSTEIN, 2014. Artes Indígenas, Patrimônio Cultural e MercadoConrado de ChecchiAinda não há avaliações
- Van Velthem - Notas Sobre A Lógica Dos Corpos e ArtefatosDocumento12 páginasVan Velthem - Notas Sobre A Lógica Dos Corpos e ArtefatosajazzmessengerAinda não há avaliações
- Almeida. Outros Destinos EnsaiosDocumento4 páginasAlmeida. Outros Destinos EnsaiosCristiane TavaresAinda não há avaliações
- 9238 49591 1 PB PDFDocumento31 páginas9238 49591 1 PB PDFkarolinnesotomaAinda não há avaliações
- Coraline e o Mundo SecretoDocumento21 páginasCoraline e o Mundo SecretoRuthyele de SousaAinda não há avaliações
- Serro: Patrimônio do Brasil – Volumes 1 e 2No EverandSerro: Patrimônio do Brasil – Volumes 1 e 2Ainda não há avaliações
- Contando do Nosso Jeito: Diálogos entre Narrativas Orais e Práticas EducativasNo EverandContando do Nosso Jeito: Diálogos entre Narrativas Orais e Práticas EducativasAinda não há avaliações
- Plano de Estudo 06 - 8º Ano - ArtesDocumento14 páginasPlano de Estudo 06 - 8º Ano - ArtesLuizaraujo CostaAinda não há avaliações
- 8106-Texto Do Artigo-23658-1-10-20200628Documento24 páginas8106-Texto Do Artigo-23658-1-10-20200628MaluVargasAinda não há avaliações
- Autodeclaração Mulher - PRODUCAO ANIMACAODocumento1 páginaAutodeclaração Mulher - PRODUCAO ANIMACAOEvelyn de AlmeidaAinda não há avaliações
- Iphan Tombamento - Compressed (1) - 1-50Documento5 páginasIphan Tombamento - Compressed (1) - 1-50Evelyn de AlmeidaAinda não há avaliações
- Paisagem de Historia A Devoracao Dos 500Documento34 páginasPaisagem de Historia A Devoracao Dos 500Evelyn de AlmeidaAinda não há avaliações
- Admconhecer, Francisco GiovanniDocumento25 páginasAdmconhecer, Francisco GiovanniEvelyn de AlmeidaAinda não há avaliações
- Awo Awo O Misterio Das Cores NaturaisDocumento175 páginasAwo Awo O Misterio Das Cores NaturaisEvelyn de AlmeidaAinda não há avaliações
- Livro - Turismo Cultural PDFDocumento49 páginasLivro - Turismo Cultural PDFKamila Brant de Araújo100% (1)
- I Seminário de Proposições de Políticas Públicas para A Capoeira de UberabaDocumento5 páginasI Seminário de Proposições de Políticas Públicas para A Capoeira de UberabaProfessora Puma Núbia NogueiraAinda não há avaliações
- O Cio Das PalavrasDocumento119 páginasO Cio Das PalavrasEnny OlliverAinda não há avaliações
- Seleção de Tutores para o Curso de Especialização Ciência É 10Documento19 páginasSeleção de Tutores para o Curso de Especialização Ciência É 10Jocy BarretoAinda não há avaliações
- Leitura Complementar 06 CIPPAnaisDocumento203 páginasLeitura Complementar 06 CIPPAnaisThiago LieblAinda não há avaliações
- Batuko 03 V2Documento72 páginasBatuko 03 V2Ricardo Nascimento100% (1)
- Livro Com A Geusa Resultado Da TeseDocumento49 páginasLivro Com A Geusa Resultado Da TeseMarcelo RomarcoAinda não há avaliações
- Vestigios Materiais Da Morte As Pesquisa 1Documento15 páginasVestigios Materiais Da Morte As Pesquisa 1gtametalAinda não há avaliações
- Logradouros LEM - Por BairroDocumento29 páginasLogradouros LEM - Por BairroJosé Augusto FerreiraAinda não há avaliações
- E Book - BoletimZdeZSafrasZ Z3oZlevantamento CompactadoDocumento100 páginasE Book - BoletimZdeZSafrasZ Z3oZlevantamento CompactadoCleber SantosAinda não há avaliações
- Sobre A Maioria Minorizada Na Pátria GrandeDocumento5 páginasSobre A Maioria Minorizada Na Pátria GrandeAmiantusAinda não há avaliações
- MOTT, Luiz. Bahia Inquisição & SociedadeDocumento295 páginasMOTT, Luiz. Bahia Inquisição & SociedadeIago Schetini100% (1)
- OS INDIOS NA HISTORIA DO BRASIL ALMEIDA Maria Regina Celestino de Compressed PDFDocumento84 páginasOS INDIOS NA HISTORIA DO BRASIL ALMEIDA Maria Regina Celestino de Compressed PDFguímeloAinda não há avaliações
- AdaltonDaMottaMendonca Transformações Socio-Economica Nos Eixo Niteroi Sao GonçaloDocumento250 páginasAdaltonDaMottaMendonca Transformações Socio-Economica Nos Eixo Niteroi Sao GonçaloRenato Soares PaivaAinda não há avaliações
- Maria Odilia A Primeira Médica Negra Da BahiaDocumento20 páginasMaria Odilia A Primeira Médica Negra Da BahiaRobson da Silva AvelinoAinda não há avaliações
- DutosDocumento54 páginasDutosFernandoMorettiAinda não há avaliações
- Livro Juazeiro ADocumento51 páginasLivro Juazeiro AWalter Da Silva DouradoAinda não há avaliações
- Tradiçoes Negras Políticas BrancasDocumento113 páginasTradiçoes Negras Políticas BrancasGabrielAlvarezAinda não há avaliações
- Revista Terra Mae 2021Documento286 páginasRevista Terra Mae 2021cruzrafaelaAinda não há avaliações
- Anais Sobreski UesbDocumento8 páginasAnais Sobreski UesbNélio SilzantovAinda não há avaliações
- Os Escravos e Os Ofícios Mecânicos Na Bahia-BrasilDocumento20 páginasOs Escravos e Os Ofícios Mecânicos Na Bahia-BrasilPaoloAinda não há avaliações
- Avaliação de Impactos Ambientais Provocados Pela Mineração Do Mármore em Ourolândia BahiaDocumento5 páginasAvaliação de Impactos Ambientais Provocados Pela Mineração Do Mármore em Ourolândia BahiaMatheus PeriusAinda não há avaliações
- Meu Velho Chico: Memórias de Uma ExpediçãoDocumento457 páginasMeu Velho Chico: Memórias de Uma ExpediçãoJoão Carlos Figueiredo100% (1)
- LDB... Ensino de Filosofia No BrasilDocumento28 páginasLDB... Ensino de Filosofia No BrasilPaulo Roberto Siberino RacoskiAinda não há avaliações
- CARVALHO, Delgado - A Excursão Geográfica PDFDocumento221 páginasCARVALHO, Delgado - A Excursão Geográfica PDFMarcelo SilvaAinda não há avaliações
- Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador - Etapa 2 - 2010Documento115 páginasProjeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador - Etapa 2 - 2010Milena TavaresAinda não há avaliações
- A Cidade de Piranhas - AL Como Objeto de Ensino GeográficoDocumento82 páginasA Cidade de Piranhas - AL Como Objeto de Ensino Geográficomeio ambiente qsmsAinda não há avaliações
- Código Postal - AlDocumento125 páginasCódigo Postal - AlKatyelle SilvaAinda não há avaliações
- A Interferência Da Implicatura Na Interpretabilidade Das Letras de Gilberto GilDocumento8 páginasA Interferência Da Implicatura Na Interpretabilidade Das Letras de Gilberto GiltomasfrereAinda não há avaliações
- 01 Diario - Oficial 01-02-13Documento58 páginas01 Diario - Oficial 01-02-13manu_bahiaAinda não há avaliações