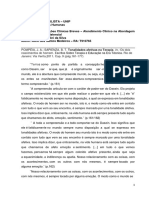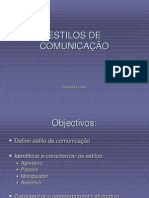Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Clinica Grupal - Benevides
Enviado por
Beatriz SilvaDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Clinica Grupal - Benevides
Enviado por
Beatriz SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CLNICA GRUPAL* Regina D.
Benevides de Barros** -------------------------------------------------------------------------------------RESUMO O tema dos grupos em auge na dcada de 70 no Brasil vem sofrendo declnio visvel desde ento, pelo menos no campo da demanda por atendimento clnico grupal. As explicaes para o fato permanecem, entretanto, pouco criticadas apontando para a existncia de um imaginrio social habitado por naturalizaes tanto no que se refere noo de indivduo quanto a de grupo. A noo de dispositivo em Foucault e Deleuze pode ser instrumento fundamental para uma aposta numa outra concepo de grupo. -------------------------------------------------------------------------------------------Palavras chaves: Grupo; Psicologia Clnica; Dispositivo.
GROUP PSYCHOLOGY -------------------------------------------------------------------------------------------ABSTRACT The group framework which had its peak in Brazil in the 70s, has been declining since then, at least concerning demand for group clinical aproach. The explanations for it remain, however, nearly untouched. Such lack of criticism indicates that there is a social imaginary inhabited by naturalizations regarding the concept of individuality as well as of the group. Foucault nd Deleuzes conception of device can be a fundamental tool for betting on another group understanding. --------------------------------------------------------------------------------------------Key words: Group; Clinical Psychology; Device
* Publicado na Revista de Psicologia/UFF, n.7, 1996 ** Psicloga, Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense/RJ, Dra. em Psicologia Clnica. Em uma recente apresentao de caso numa sesso clnica, foi-me perguntado que nome daria ao trabalho a ser apresentado. Ao responder, incerta, clnica grupal, alguns colegas sorriram perguntando, entrelinhas, se o que eles faziam era, ento, clnica dual. A provocao fez-me lembrar um artigo editado na revista de domingo do Jornal do Brasil em 1992, onde o reprter entrevistava alguns psicanalistas sobre um assunto h muito fora das manchetes - a anlise de grupo. O reprter afirmava ...A terapia de
grupo est em crise. Depois de virar moda e mexer com a cabea de muita gente a partir dos anos 70, a prtica agora recebe a alta definitiva dos analisandos e corre o risco de ser sepultada bem antes do terceiro milnio.... Esta era bem a sensao que experimentara no incio da sesso clnica - a de que eu estava desenterrando um cadver. Por outro lado chamava-me a ateno a incerteza com que eu havia respondido clnica grupal. Isto seria sinal de dvida sobre o que eu fazia, receio de ser entendida como exumadora de cadaveres?
GRUPO: MORTO OU VIVO? Na mesma reportagem acima mencionada os entrevistados listavam razes para a existncia de grupos na dcada de 70 e, dentre elas, destacavam duas principais: uma de ordem ideolgica - era coisa de vanguarda, era um reduto de liberdade em tempos de represso- e outra de ordem econmico-circunstancial - era mais barato e existiam muitos clientes e poucos terapeutas. Estes dois argumentos parecem ainda habitar o imaginrio social a respeito dos grupos de tal maneira que, passadas duas dcadas, o que se verifica um acentuado desinteresse e, no melhor dos casos, uma forte crtica desqualificadora das chamadas prticas grupais. O efeito-ideologizante que acabou por revestir as prticas grupais a fez migrar de modo empobrecido para ser tcnica a ser aplicada em trabalhos em escolas, empresas e, quando muito, em comunidades . O efeito-econmico-circunstancial redundou, na rea da sade, em sua utilizao como recurso para postos e centros de sade da rede pblica, para diminuir a fila de espera. Como efeito-domin, a produo terico-crtica e a inveno de outras prticas em grupo escasseou de modo evidente (1) criando um circuito fechado fortalecedor de um imaginrio onde o grupo aparece, ainda, como moda de certa poca em que havia represso polticae soluo para a baixa oferta de servios e seu alto custo. Tomado por este ngulo, o raciocnio seria o seguinte: dada certa difuso de tcnicas grupalistas, dadas certas condies de estreitamento dos espaos coletivos de fala., dado o aumento de procura aos servios especializados, utiliza-se o grupo, que se tornaria descartvel quando tais problemas fossem sanados. Esta hiptese nos parece estar em acordo com o que os fatos subsequentes nos apontam: nas dcadas de 80/90
observa-se uma desvalorizao do grupo, um decrscimo de oferta de espaos teraputicos grupais, pouca insistncia na utilizao das prticas grupais nos servios de atendimento psi da rede pblica. As alegaes para este anti-boom variam desde a inconsistncia terica dos modelos grupalistas falta de procura por atendimentos em grupo por parte dos usurios, ao mesmo tempo que se constata a entrada de outras correntes de pensamento psi (especialmente a psicanaltica-lacaniana). Isto se confirma na continuao da referida reportagem, quando os entrevistados alegam como fatores responsveis pela diminuio atual da procura por grupos: a falta de desenvolvimento terico na rea; questes ligadas ao setting; aspectos tcnicos diversos; o desrespeito s individualidades; a falta de sigilo no grupo; a difuso da psicanlise lacaniana, a inibio das pulses de agressividade, j que no grupo as relaes tendem a ser muito amorosas. As argumentaes, apoiadas no eixo ideologizao-contexto de poca, retiram das prticas grupais sua potncia analtica, enterrando-as numa espcie de vala comum juntamente com outras tantas prticas sociais fora de uso. Em algumas situaes, elas chegaram a sobreviver como recurso de segunda categoria para serem utilizadas por analistas de segunda categoria(2). O que temos, ento, no primeiro caso, um grupomorto e no segundo, um grupo-desvitalizado-quase-morto. A sensao de exumao no era, portanto, fortuita... Mas, estaria minha proposta de clnica grupal caminhando no sentido do desenterramento do quase-morto-grupo? E mais, por que a incerteza em nomear a proposta de clnica grupal?
H MESMO UM MORTO / QUASE-MORTO? Faamos um pequeno desvio em nossas perguntas. A decretao de morte ao grupo supe uma certa concepo de grupo - uma totalidade, uma unidade, que mais do que a soma das partes, um todo que homogeneiza e impede as individualidades de serem vistas/ouvidas. Essa idia de totalidade/unidade faz parte, bem sabemos, da histria do grupo. Outros autores, rastreando etimologicamente o vocbulo, apontam que gruppo significava um certo tipo de pintura caracterstico do sculo XVI, onde se retratava um conjunto de pessoas colocados de forma circular tendo o termo, no sculo
XVIII, se expandido para significar reunio de pessoas. Este retrato de grupo , ento, expresso de um lao social tirado da vida pblica tipicamente burguesa dos sculos XVII/XVIII. Encontramos, dessa forma, duas principais significaes associadas ao grupo - crculo e lao (coeso). Tais significaes emergem num contexto de revalorizao do homem, de reposicionamento das relaes com o Estado, de nuclearizao da famlia, do advento da revoluo industrial e da valorizao dos espaos privados em restrio aos do domnio pblico. O fortalecimento do contrato social, onde cada um era livre e responsvel na construo da sociedade que almejassem, dava a dimenso de uma valorizao/exacerbao do indivduo como centro de interesse da sociedade. O indivduo/ indiviso, pea-chave de toda esta engrenagem scio-poltica, seria atravessado, especialmente no sculo XIX, por movimentos de massa que a nivel macropoltico, incentivavam o agrupamento, a reunio, como condio de possibilidade para reivindicaes/conquistas poltico-civis fundamentais. O polo-sociedade impe-se ressaltando uma querela que estava apenas comeando... indivduo ou sociedade, quem determina quem? Entre o indivduo e a sociedade, entre um psicologismo e um sociologismo, o grupo se erige como tentativa de soluo para o impasse. A tnue linha que atravessara alguns sculos ganhava a carter institucional. O gruppo-retrato passa a grupo-instituio, o crculo-retrato passa a ser um modo de se estruturarem intercmbios, o lao-retrato passa a lao-psquico elemento fundante das relaes entre os componentes do grupo. O grupo, agora instituio, se faz forma na histria, composio de linhas que ao se atravessarem produzem campos de saber, redes de poder, especialismos. Linhas que compem territrios, produzindo tanto objetos quanto sujeitos. Prticas que ao se naturalizarem apresentam-se como j-l, descolando-se de seu processo de produo. A instituio-grupo assume seu papel intermediador entre as outras duas unidades indivduo e sociedade- e se faz, tambm, unidade. O grupo surge, dessa forma, como objeto histrico, de um desdobramento da mesma lgica antittica, respondendo s injunes das redes de saber-poder. Ele vem marcado pelas caractersticas desta lgica e se definir semelhana dos elementos anteriores de sua cadeia generativa - por um lado
o indivduo, que lhe garante a idia de indiviso, particular e, por outro, a sociedade, que lhe d a idia de todo, de universal. A sociedade, O indivduo, O grupo. Trs unidades, trs totalidades. Tomando a trade poderamos dizer que o modo de subjetivao que se opera a o mesmo- um modo-indivduo, que v compostos unitrios, com relaes mutuamente interdependentes buscando equilbrio entre as partes. No teria sido neste sentido que o grupo teria sido tomado nas experincias relatadas na referida reportagem? No teria sido ele tratado como um espao unificador funcionando atravs da coeso que o havia fundado enquanto prtica? Castel (3) destaca, nas ltimas dcadas, o incentivo massivo s trocas, s relaes entre as pessoas e a oferta expressiva que as prticas psi tem feito: terapias alternativas, redes de convivncia, encontros de grupos, grupos de auto-ajuda, etc. Estabelece conexes entre tal situao e o modo privatizado com que temos vivido as trocas sciopolticas. Haveria, segundo ele, um superinvestimento das prticas relacionais. A um sujeito inteiramente privatizado nada mais restaria do que inter-agir, relacionar-se... O que Castel pe em relevo o lugar que podem ocupar as prticas grupalistas. Em sua tarefa de estabelecer laos, elas podem ter se constitudo como oferta de apangio para os males da distncia historicamente estabelecida entre as pessoas. Neste sentido, o grupo estaria cumprindo um papel de intensificador do mesmo modo de subjetivao. Ao tomar os indivduos como indivduos, o grupo se transforma em mais um indivduo, construindo outro ser uno/indivisvel - o ser-do-grupo. No teria sido assim tratado o grupo por aqueles que hoje o enterram como tcnica ultrapassada e fora de moda? Mas, insistimos na pergunta: o que estaria ultrapassado e fora de moda? Se entendemos o grupo como intermediando, acompanhando e produzindo modosindividualizados de subjetivao ele s poderia ser considerado morto a ser enterrado por sua forma e no por sua funo subjetivadora. Estamos querendo chamar a ateno para um certo modo de subjetivao presente ainda hoje que se engendra pela interiorizao dos conflitos, que captura o desejo na falta esterilizando sua potncia criadora. Neste sentido que afirmamos que a funo subjetivadora-individualizante permanece dominante nas prticas psi, sejam elas individuais ou grupais. Dizer que o grupo
morto a ser enterrado antes do incio do terceiro milnio se ater a apenas uma das formas atravs das quais tem se expresso a subjetividade - o modo-indivduo-, modo de subjetivao contemporneo dominante, que insiste se atualizando seja nos chamados atendimentos clnicos individuais e/ou grupais. Enterrar o grupo toma aqui, portanto, sentido meramente formal pois a produo de subjetividades individualizadas subsiste nas prticas clnicas em vigor. Se h algo a ser enterrado, portanto, no seria o grupo, mas sim a funo que ele, assim como as demais prticas psi, tem posto em funcionamento, de transformar aquilo que da ordem da multiplicidade em unidade e identidade. Talvez a estivesse situada a incerteza em nomear a proposta que apresentava na sesso clnica como grupal. O receio estava em que ela fosse tomada em sua faceta de mais uma tcnica ou que o grupo fosse visto, como tem sido na maior parte das prticas grupalistas, como outro ser, outra unidade. Neste mesmo sentido que no considerava estar desenterrando um morto pois aquele grupo-todo era o que tambm queria enterrar.
AFINAL, DE QUE PROPOSTA GRUPAL ESTAMOS FALANDO? Nosso ponto de partida est na noo de subjetividade que no se situa no campo individual, mas no campo de todos os processos de produo social e material. A individualizao da subjetividade, entendemos, simplesmente um caso de agenciamento, dentre outros possveis. A subjetividade , portanto, produzida. A cada momento da histria, dadas certas conjugaes de foras, a cada composio das relaes saber-poder, certas mquinas se pem em funcionamento, alterando os desenhos at ento configurados, puxando outras linhas que passam a circular como matria de expresso disponvel montagem de outras subjetividades. A noo de subjetividade implica imediatamente a de multiplicidade, pois ela pode se apresentar de formas parciais e fragmentadas, no sendo passvel de totalizao ou centralizao. As subjetividades do tipo indivduo so, assim, efeitos da serializao capitalstica que
investe o desejo como sendo do indivduo e o social como sendo algo exterior ao mesmo, seja ele construdo a partir desse desejo individual, seja conformando-o. A noo de produo de subjetividade resgata as relaes de luta na pluralidade de foras que constituem cada acontecimento. Colocando-se como contrria constncia, s totalidades bem fechadas, essas subjetividades mltiplas circulam nos conjuntos sociais podendo ser apropriadas de forma criativa, produzindo singularizaes. Singularizar, portanto, est no domnio da ruptura, da afirmao da potncia, do escape do que est naturalizado, separado de seus movimentos de produo. Singularizar inventar, criar outros modos de existncia que no sobrecodifiquem as experincias. O que caracteriza tal processo de singularizao sua capacidade de se automodelar, isto de captar os elementos da situao que construa suas prprias referncias terico-prticas. Guattari chamou a este processo, numa certa poca, de experincia de grupo sujeito. Uma experincia de grupo-sujeito no se identifica, em nenhum momento, idia de sujeito-do-grupo. Se numa primeira leitura da proposta guattariana ainda podemos reconhecer um certo dualismo (grupo sujeito/grupo sujeitado), assim como uma tentativa de superao das verticalidades opressoras e burocratizantes atravs do grupo sujeito, o que poderia levar a uma nova totalizao, numa perspectiva estratgica que tal experincia se coloca. Estratgia para introduzir a dimenso analtica na luta poltica e a dimenso poltica na anlise. Assim, o que est a se colocando no uma nova proposta de grupo, mas o desencadear do processo analtico por ampliao de graus de transversalidade. No caso dos grupos isto se daria quando eles pudessem se por como suportes para diversos modos outros de expresso. Efeito-grupo e no natureza-grupo pois aqui se destitui o grupo daquilo que parecia ser seu destino inexorvel: massificao ou libertao da alienao. O grupo no , ento, um dado, construo, desenho que se configura a cada situao. desde esta perspectiva processual que o grupo exigido abertura que o confronta com as capturas coisificantes que determinam seu lugar de objeto de investimento por sujeitos
individuados que temem a morte que vem de dentroe a que vem de fora. Os papis, as identificaes, as lideranas so efeitos de certo modo de produo de grupo. Voltando-se, portanto, contra o reducionismo poltico operado pela maior parte das propostas grupalistas, contra sua utilizao como tcnica-em-si, contra o psicologismo que remete ao grupo a seu interior, contra as substancializaes que transformaram o grupo num objeto a ser pensado/trabalhado como fonte de mudanas de comportamento, o grupo aparece como potente dispositivo no processo de produo de subjetividade. Eis um ponto sobre o qual vale a pena nos deter. O grupo-dispositivo afirma-se em sua capacidade catalizadora dos fluxos dispersos que se apresentam em cada cena. Como dispositivo, recusa qualquer forma de totalizao e unidade. Como dispositivo, sempre multilinear. Como composto de linhas de natureza diversas, o grupo-dispositivo est sempre nas adjacncias de modos outros de territorializao. Em todo dispositivo, disse Deleuze (4), necessrio distinguir isto que ns somos, isto que no somos mais, e isto em que estamos nos tornando.... assim que entendemos o grupo - um dispositivo que pe a funcionar mquinas de desmanchamento do indivduo que ns somos, que acionam movimentos no que deixamos de ser no encontro com a alteridade que nos avizinha e no deslizar pela superfcie daquilo que estamos em via de diferir e nos tornar.
GRUPO - UM OUTRO LUGAR? Esta pergunta que poderia parecer simples primeira vista, coloca certos problemas que merecem ser analisados mais de perto. Se entendermos que o grupo um outro lugar para o exerccio do trabalho do psiclogo, poderemos estar tomando-o como mais um campo de trabalho, um campo a ser dominado por um especialista, algo a ser repartido no mercado de bens capitais de profissionais. Aqui o grupo muito se aproximaria da verso a ser enterrada na mencionada reportagem . Outra maneira de entendermos o grupo como lugar vem da tradio do prprio termo que considera ser condio de possibilidade para sua existncia o fato das pessoas se ligarem por certas constncias de espao e tempo. Uma clssica definio de grupo
elucidativa a esse respeito quando diz ser o grupo um conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo que se renem em torno de uma tarefa, durante um tempo determinado. A palavra lugar remete, ainda, a estabelecimento, organizao pautada por regras e normas. Tomado por este sentido, grupo equivaleria a um dos nveis desta organizao, elemento de um estrutura onde se integrariam partes numa escala hierarquizada. Domnio de especialistas, condio sine qua non de existncia, parte de uma estrutura hierarquizada ... O grupo um outro lugar? Se tomarmos o grupo como dispositivo como h pouco falvamos, justamente o que estar sendo acionado a descristalizao de lugares e papis, a comear pela prpria idia de grupo como um outro lugar. No podemos aqui dispensar a noo de instituio desenvolvida pelos analistas institucionais. A demarcao crucial que estabelecem desloca o conceito do campo jurdico-funcionalista para o histrico-poltico. Destituda de sua equivalncia a estabelecimento, organizao, lugar, a instituio recupera sua historicidade e sua capacidade de instaurar movimentos. O que configura, em especial, seu sentido na histria, seu carter no-natural, instrumentalizando aes que estejam voltadas para um processo de permanente problematizao daquilo que aparece como dado. neste sentido que podemos dizer que o grupo uma instituio, porque ele condensa fluxos de toda ordem, ele aglutina foras que travam lutas pela definio de um determinado domnio, por um determinado campo de saber-poder, pelo desenho de um territrio. Todo territrio, bem sabemos, feito de linhas de segmentao duras, flexveis e de fuga. Podemos dizer que o modo de subjetivao individualizante linha de segmentao dura dominante no modo de produo capitalista. Nos territrios existenciais ento conformados, entretanto, sempre h algo que escoa, algo que vaza ou foge. a que acreditamos poder o grupo-dispositivo funcionar, como uma fissura, uma fenda que segmente de forma flexvel os territrios existenciais to marcados pelos
funcionamentos individualizantes, abrindo passagens para a multipicidade de subjetividades outras.
NOTAS E REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
(1) bastante escassa a produo terica sobre trabalhos em grupo no Brasil. Destaque-se : Saidn,O. et al. Prticas grupais, RJ, 1983, Campus; Baremblitt,G., org. Grupos, teoria e tcnica, RJ, Graal, 1982; Baremblitt,G. et al , O inconsciente Institucional, Petrpolis, Vozes, 1984 . E, mais recentemente, Lancetti,A. et al. Sade e Loucura,4. So Paulo, Hucitec,1994 ; Rodrigues,H.B.C. As intervenes grupais: epistemologia ou histria das prticas? Rev. do dep. de Psicologia da UFF(3/4), jan/dez, 91/92 e Barros,R.D. Benevides de . Grupo: afirmao de um simulacro. Tese de doutorado, PUC/SP, 1994. (2) Esse destaque feito por Saidn,O. em 1982 a partir dos resultados de uma pesquisa que resultou no livro Prticas Grupais , op. cit. (3) Castel,R. A gesto dos Riscos. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1987 (4) Deleuze,G. O que um dispositivo? In: Michel Foucault, Philosophe Rencontre International. Paris, 1988.
10
Você também pode gostar
- Vitória Nos Relacionamentos - Resenha CríticaDocumento3 páginasVitória Nos Relacionamentos - Resenha CríticaPatricia Aguiar de Oliveira67% (9)
- Dinâmica Da PersonalidadeDocumento22 páginasDinâmica Da PersonalidadeAthalee Van CleefAinda não há avaliações
- Balint em Sete Lições - Luiz Claudio FigueiredoDocumento2 páginasBalint em Sete Lições - Luiz Claudio FigueiredoCa KZAinda não há avaliações
- ARGERAMl - RESENHAS Por Bruno TurryDocumento15 páginasARGERAMl - RESENHAS Por Bruno TurryEdi A. RossiAinda não há avaliações
- Aula 7 - FEH III - Psicopatologia Fenomenológico-ExistencialDocumento22 páginasAula 7 - FEH III - Psicopatologia Fenomenológico-ExistencialLuiz GuilhermeAinda não há avaliações
- Preconceito contra a "Mulher": diferença, poemas e corposNo EverandPreconceito contra a "Mulher": diferença, poemas e corposAinda não há avaliações
- Capítulo de Apresentação de "Psicanálise e Psicossomática. Casos Clínicos, Construções"Documento12 páginasCapítulo de Apresentação de "Psicanálise e Psicossomática. Casos Clínicos, Construções"Psicossomática Psicanalítica I. Sedes SapientiaeAinda não há avaliações
- As Entrevistas Preliminares - Ou Como Despertar o Desejo de Fazer Uma AnáliseDocumento23 páginasAs Entrevistas Preliminares - Ou Como Despertar o Desejo de Fazer Uma AnáliseLuisAlberto100% (2)
- Ética Empresarial Na PráticaDocumento36 páginasÉtica Empresarial Na PráticaIsabela FrançaAinda não há avaliações
- Paper ProntoDocumento25 páginasPaper ProntoLuanaRodriguesAinda não há avaliações
- Amigo de VerdadeDocumento3 páginasAmigo de VerdadeMarlon DonadonAinda não há avaliações
- Biopoder, totalitarismo y la clínica del sufrimientoNo EverandBiopoder, totalitarismo y la clínica del sufrimientoAinda não há avaliações
- Por uma vida espontânea e criadora: Psicodrama e políticaNo EverandPor uma vida espontânea e criadora: Psicodrama e políticaAinda não há avaliações
- Práticas psicanalíticas na comunidade: Relatos em dois atosNo EverandPráticas psicanalíticas na comunidade: Relatos em dois atosAinda não há avaliações
- ITINER ÁRIOS DE FORMA ÇÃO - Jean OuryDocumento10 páginasITINER ÁRIOS DE FORMA ÇÃO - Jean OuryAdriele BaldessimAinda não há avaliações
- Aline Medeiros - Tonalidades Afetivas Na Terapia - Os Dois Nascimentos Do HomemDocumento5 páginasAline Medeiros - Tonalidades Afetivas Na Terapia - Os Dois Nascimentos Do HomemAline MedeirosAinda não há avaliações
- Laços E Rupturas Leituras Psicanalíticas Sobre Adoção E O Acolhimento InstitucionalDocumento5 páginasLaços E Rupturas Leituras Psicanalíticas Sobre Adoção E O Acolhimento InstitucionalSimone SilvaAinda não há avaliações
- A Instituiçao InventadaDocumento6 páginasA Instituiçao InventadaWellington Sousa100% (1)
- MOSCOVICI, S. Representações Sociais O Fenômeno Das Representações SociaisDocumento81 páginasMOSCOVICI, S. Representações Sociais O Fenômeno Das Representações SociaisAnonymous ugzqmoAinda não há avaliações
- O Umbigo Da Reforma Psiquiátrica PDFDocumento213 páginasO Umbigo Da Reforma Psiquiátrica PDFLigia Fernanda MarinAinda não há avaliações
- CapítulosDocumento33 páginasCapítulosapi-18517262Ainda não há avaliações
- Dejours - Homem TrabalhoDocumento5 páginasDejours - Homem TrabalhoGaywilson BrevesAinda não há avaliações
- FENO1 - CAP 3 e CAP 4 PDFDocumento22 páginasFENO1 - CAP 3 e CAP 4 PDFneiva_andrade9812Ainda não há avaliações
- Fichamento de As Artimanhas Da ExclusãoDocumento8 páginasFichamento de As Artimanhas Da ExclusãoParagarantir100% (1)
- VALA, XXXX. Representações Sociais EmancipadasDocumento23 páginasVALA, XXXX. Representações Sociais EmancipadasBruno TakahashiAinda não há avaliações
- O Suicídio No Ocidente e No Oriente PDFDocumento2 páginasO Suicídio No Ocidente e No Oriente PDFKaline CamboimAinda não há avaliações
- SPCRSJDocumento399 páginasSPCRSJEdwin Moscoso100% (1)
- Resenha Linhas de Progresso Na Terapia Psicanalítica (Freud) - Passei DiretoDocumento4 páginasResenha Linhas de Progresso Na Terapia Psicanalítica (Freud) - Passei DiretoNatalia AntunesAinda não há avaliações
- Possíveis Contribuições de Husserl e Heidegger para A ClínicaDocumento9 páginasPossíveis Contribuições de Husserl e Heidegger para A ClínicaFilipe NovaesAinda não há avaliações
- A Clínica e A Reforma PsiquiátricaDocumento17 páginasA Clínica e A Reforma PsiquiátricaMariaAlineAinda não há avaliações
- O Divã Do Pobre - Guattari PDFDocumento11 páginasO Divã Do Pobre - Guattari PDFJoquebeyde ManenteAinda não há avaliações
- Psicoterapias Abordagens Atuais PDFDocumento11 páginasPsicoterapias Abordagens Atuais PDFAline CarlosAinda não há avaliações
- Slavoj Zizek - Eles Não Sabem o Que FazemDocumento155 páginasSlavoj Zizek - Eles Não Sabem o Que FazemElisa NevesAinda não há avaliações
- Análise Institucional No Brasil - Revisao ConceitualDocumento25 páginasAnálise Institucional No Brasil - Revisao ConceitualAnonymous B5xHxDDKWdAinda não há avaliações
- Construcionismo Social PDFDocumento9 páginasConstrucionismo Social PDFFernanda ElisaAinda não há avaliações
- +12 CERQUEIRA GOMES Et Al. Acesso Às Multiplicidades Do Cuidado Como Enfrentamento Das Barreiras em Saúde Mental - Hitórias de RDocumento36 páginas+12 CERQUEIRA GOMES Et Al. Acesso Às Multiplicidades Do Cuidado Como Enfrentamento Das Barreiras em Saúde Mental - Hitórias de RlaryssaAinda não há avaliações
- Pesquisa Psicanalise PDFDocumento22 páginasPesquisa Psicanalise PDFGerson Leal MieresAinda não há avaliações
- A Prática Profissional Psi Na Saúde PúblicaDocumento8 páginasA Prática Profissional Psi Na Saúde PúblicafurtunatopatriciaAinda não há avaliações
- Pré História Da PsicanáliseDocumento1 páginaPré História Da PsicanáliseCris Lino100% (1)
- Dossiê Freud 100 AnosDocumento15 páginasDossiê Freud 100 Anostatabloizi100% (2)
- Cap5. Inserção No Mercado de Trabalho Os Psicólogos Recém Formados in Livro O-trabalho-do-psicologo-no-Brasil PDFDocumento22 páginasCap5. Inserção No Mercado de Trabalho Os Psicólogos Recém Formados in Livro O-trabalho-do-psicologo-no-Brasil PDFSofiaAinda não há avaliações
- Texto Guirado - EspecificidadeDocumento15 páginasTexto Guirado - Especificidadegabrielamfenner3496Ainda não há avaliações
- Perversão Uma Clínica Possível PDFDocumento10 páginasPerversão Uma Clínica Possível PDFEzraElyonAinda não há avaliações
- A Sociedade Individualizada - Zygmunt BaumanDocumento11 páginasA Sociedade Individualizada - Zygmunt BaumanCarla VasconcelosAinda não há avaliações
- A Despossessão SubjetivaDocumento19 páginasA Despossessão SubjetivaLurianaAinda não há avaliações
- A Psicologia Social e A Questão Do HífenDocumento297 páginasA Psicologia Social e A Questão Do HífenBruna A. DávaloAinda não há avaliações
- Psicologia e Trabalho InformalDocumento11 páginasPsicologia e Trabalho InformalLívia Gomes dos SantosAinda não há avaliações
- A Reforma Psiquiátrica e Os Desafios Na Desinstitucionalização Da LoucuraDocumento19 páginasA Reforma Psiquiátrica e Os Desafios Na Desinstitucionalização Da LoucuraMateus LimaAinda não há avaliações
- Plantão Psicológico e Uma Compreensão Fenomenológica ExistencialDocumento21 páginasPlantão Psicológico e Uma Compreensão Fenomenológica ExistencialAndré FonckAinda não há avaliações
- A Patologização Da NormalidadeDocumento12 páginasA Patologização Da NormalidadeAndre SantosAinda não há avaliações
- A criação original: A teoria da mente segundo FreudNo EverandA criação original: A teoria da mente segundo FreudAinda não há avaliações
- O Pensamento Político de Cornelius CastoriadisDocumento78 páginasO Pensamento Político de Cornelius CastoriadisJosé VilemaAinda não há avaliações
- Grupo Operativo - Ensino AprendizagemDocumento16 páginasGrupo Operativo - Ensino AprendizagemBruna Hendges100% (1)
- Processo de Subjetivação em Deleuze e GuattariDocumento6 páginasProcesso de Subjetivação em Deleuze e GuattaricaroliterisAinda não há avaliações
- Psicologia Hospitalar História Conceitos e PraticasDocumento14 páginasPsicologia Hospitalar História Conceitos e PraticasCarla Natureza100% (1)
- Atendimento OnlineDocumento6 páginasAtendimento OnlineDominick Monteiro BritoAinda não há avaliações
- 19 - Tourinho-2006-Subjetividade-e-Relacoes-Comportamentais PDFDocumento241 páginas19 - Tourinho-2006-Subjetividade-e-Relacoes-Comportamentais PDFChelle MiAinda não há avaliações
- A Clinica Do Corpo Sem OrgãosDocumento17 páginasA Clinica Do Corpo Sem OrgãosLaisseArrudaAinda não há avaliações
- Aula Oito Bowlby Rompimento Dos Vinculos AfetivosDocumento17 páginasAula Oito Bowlby Rompimento Dos Vinculos AfetivosKapiAinda não há avaliações
- PSICOLOGIA NO BRASIL: História, Práticas Emergentes e Psicologia No Paraná.Documento17 páginasPSICOLOGIA NO BRASIL: História, Práticas Emergentes e Psicologia No Paraná.Pablo de Assis100% (1)
- PELLEGRINO Pacto Edípico e Pacto Social (Da Gramática Do Desejo À Sem-Vergonhice Brasílica)Documento6 páginasPELLEGRINO Pacto Edípico e Pacto Social (Da Gramática Do Desejo À Sem-Vergonhice Brasílica)Natacha SzmidkeAinda não há avaliações
- Buytendijk, TraduçãoDocumento11 páginasBuytendijk, TraduçãoMarcelo Vial RoeheAinda não há avaliações
- Pressupostos Da ACP - UNIC 2020Documento78 páginasPressupostos Da ACP - UNIC 2020Someflower FlowerAinda não há avaliações
- Formacao Clinica Fenomelogica Existencial E. Dutra 2013Documento7 páginasFormacao Clinica Fenomelogica Existencial E. Dutra 2013José Victor Soares BorgesAinda não há avaliações
- D-02 Atuação-Do-Psicólogo-InstitucionalDocumento43 páginasD-02 Atuação-Do-Psicólogo-InstitucionalJozéSilvaAinda não há avaliações
- Tese de Doutorado Maria Tavares - Capítulo 4 - Avaliação de ServiçosDocumento55 páginasTese de Doutorado Maria Tavares - Capítulo 4 - Avaliação de ServiçosBeatriz SilvaAinda não há avaliações
- Koch e Elias - Leitura-Texto e Sentdo001 PDFDocumento16 páginasKoch e Elias - Leitura-Texto e Sentdo001 PDFvioletapuertasAinda não há avaliações
- Norma ApaDocumento11 páginasNorma ApaBeatriz SilvaAinda não há avaliações
- RapsDocumento59 páginasRapsMario AugustoAinda não há avaliações
- LIVRO BAKHTIN Estetica Criacao VerbalDocumento230 páginasLIVRO BAKHTIN Estetica Criacao Verbalguimagranato100% (15)
- LIVRO BAKHTIN Estetica Criacao VerbalDocumento230 páginasLIVRO BAKHTIN Estetica Criacao Verbalguimagranato100% (15)
- Kate Danon - O Segredo de Malcom PDFDocumento385 páginasKate Danon - O Segredo de Malcom PDFVitoria Scapim100% (2)
- Neurose Obsessiva Rubia Delorenzo PDF - Pesquisa GoogleDocumento4 páginasNeurose Obsessiva Rubia Delorenzo PDF - Pesquisa GoogleLuiz Ricardo Pauluk0% (1)
- A Arte Na Terapia Ocupacional de Nise Da Silveira - José Otávio Pompeu e SilvaDocumento235 páginasA Arte Na Terapia Ocupacional de Nise Da Silveira - José Otávio Pompeu e SilvaJoseOtavioAinda não há avaliações
- A Roupa Dos OrixasDocumento130 páginasA Roupa Dos OrixasTata Nkosi67% (3)
- O Conceito Halliwick - Uma Maneira de Trabalhar Na ÁguaDocumento10 páginasO Conceito Halliwick - Uma Maneira de Trabalhar Na Águaana paula camargoAinda não há avaliações
- Apresentação Estilos Comunicação V2Documento21 páginasApresentação Estilos Comunicação V2Cláudia LopesAinda não há avaliações
- Desafios A Pratica Reflexiva Na Escola Lino de Macedo PDFDocumento5 páginasDesafios A Pratica Reflexiva Na Escola Lino de Macedo PDFAdriana Alessandro TonissiAinda não há avaliações
- O Que e o DI e Suas Etapas 2015bDocumento10 páginasO Que e o DI e Suas Etapas 2015bJosiele CoutinhoAinda não há avaliações
- O 24Documento10 páginasO 24cartografia escolarAinda não há avaliações
- O Poder Do Grande OutroDocumento3 páginasO Poder Do Grande OutroMardem LeandroAinda não há avaliações
- Poka YokeDocumento90 páginasPoka YokePricila FradeAinda não há avaliações
- Como Gerir A Inteligência EmocionalDocumento6 páginasComo Gerir A Inteligência EmocionalSusana RainhoAinda não há avaliações
- Gestão de Pessoas 2008 (Livro Digital) - José Arimatés de Oliveira e Maria Da Penha Machado de MedeirosDocumento236 páginasGestão de Pessoas 2008 (Livro Digital) - José Arimatés de Oliveira e Maria Da Penha Machado de MedeirosJosé Augusto MayaAinda não há avaliações
- Torturas Do CoraçãoDocumento17 páginasTorturas Do CoraçãoJosé AugustoAinda não há avaliações
- Epidemiologia ParkinsonDocumento6 páginasEpidemiologia Parkinsondanielc358Ainda não há avaliações
- Estudo Comparativo Entre As Diferentes Perspectivas EstratégicasDocumento13 páginasEstudo Comparativo Entre As Diferentes Perspectivas EstratégicasRicardo PajéAinda não há avaliações
- Teoria Da Atenção OficialDocumento5 páginasTeoria Da Atenção OficialRicardo VieiraAinda não há avaliações
- Guia Roteiros Brasilia 11x15 - PortuguesDocumento73 páginasGuia Roteiros Brasilia 11x15 - PortuguesirereAinda não há avaliações
- AmarraçãoDocumento7 páginasAmarraçãoValdecir P. NascimentoAinda não há avaliações
- Análise Crítica - Mentes PerigosasDocumento7 páginasAnálise Crítica - Mentes PerigosasAdriana LoiolaAinda não há avaliações
- Comunicação Organizacional As Principais Barreiras PDFDocumento8 páginasComunicação Organizacional As Principais Barreiras PDFvaniamarAinda não há avaliações
- Pehe Ma'as - Leitura Do BaralhoDocumento20 páginasPehe Ma'as - Leitura Do BaralhoCyntiaMAinda não há avaliações
- O Que Toca À Psicologia EscolarDocumento5 páginasO Que Toca À Psicologia EscolarChris ZaharoffAinda não há avaliações
- AdmDocumento8 páginasAdmizaias_alves_6Ainda não há avaliações
- Mcmpovos 58Documento21 páginasMcmpovos 58Ricardo SoaresAinda não há avaliações