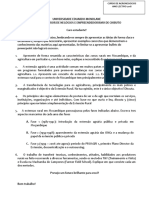Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Manga
Manga
Enviado por
Alysson SobreiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Manga
Manga
Enviado por
Alysson SobreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
PLANEJAMENTO, IMPLANTAO E TRATOS CULTURAIS NA CULTURA DA MANGUEIRA.
Aparecida Conceio Boliani e Luiz de Souza Corra
1. INTRODUO
A cultura da mangueira tem sua vida til relativamente extensa. Dessa forma, se for adequadamente instalada e mantida, continua a produzir lucrativamente durante um perodo relativamente longo. Seu plantio requer, portanto, um bom planejamento atravs de cuidadosa escolha do local, adequado preparo do solo e criteriosa seleo do material, a fim de proporcionar produo uniforme, fruto de boa qualidade, rpida comercializao da safra e retorno econmico seguro. O ditado popular de que a mangueira no requer cuidado especial no plantio e que cresce e produz satisfatoriamente mesmo sem realizao de tratos culturais adequados errneo. Na realidade, a mangueira responde de forma benfica ao uso de tratos culturais adequados. No Brasil, esta cultura se desenvolveu de forma muito rudimentar, conseqentemente a mangicultura caracterizou-se por apresentar baixa produtividade e m qualidade dos frutos, resultando na reduo do consumo, sendo este, inversamente proporcional ao volume produzido. Atualmente, em funo da exigncia dos mercados externo e interno e graas ao grande esforo das pesquisas e do setor produtivo na gerao e na adaptao de novas tcnicas, tm sido obtidos como resultados: produo de frutos de melhor qualidade, possibilidade de produo de frutos o ano todo em determinadas regies e aumento da exportao dos frutos.
Prof.Adjunto do Departamento de Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e Scio-Economia da UNESP Campus de Ilha Solteira. Av. Brasil, 56. CEP 15385-000 Ilha Solteira, SP. boliani@agr.feis.unesp.br Prof.Titular do Departamento de Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e Scio-Economia da UNESP Campus de Ilha Solteira. Av. Brasil, 56. CEP 15385-000 Ilha Solteira, SP. lcorrea@feis.unesp.br
143
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
O cultivo da mangueira, assim como de outras frutferas perenes, as quais proporcionam a sua explorao por um perodo relativamente longo, onde a inverso de capital bastante significativo e amortizado a longo prazo, deve ser bem planejado em todos os aspectos. Um pomar bem planejado, com formao das mudas, plantio e tratos culturais adequados determina o sucesso do investimento.
2. PLANEJAMENTO
Um pomar bem planejado e instalado possibilita o sucesso do empreendimento e certamente ser altamente rentvel. Por outro lado, um pomar instalado sem um adequado planejamento refletir todos os erros cometidos em sua implantao, aumentando e acumulando custos ou mesmo prejuzos, ano aps ano, durante toda sua vida til (KAVATI, 1996, p.73). Inmeros fatores afetam a explorao da cultura da mangueira, entretanto dentro do planejamento de implantao da cultura, deve-se estar atento a: - Estudo do mercado: os aspectos relativos comercializao (sazonalidade de oferta e preos), malha para transporte, mercado (interno e externo) in natura e para produtos da industrializao; - Controle da poca de produo: conhecimento das condies edafoclimticas, escolha adequada de cultivares e tratos culturais visando ampliar a frutificao e o perodo de colheita dos frutos; - Rendimento: levar em considerao aspectos relativos a reduo de copas com vistas ao uso de densidades maiores de plantas por rea, atravs do uso de porta-enxertos ananicantes, poda, anelamento e produtos qumicos; - Cultivares: procurar promover diversificao, uma vez que a maioria dos pomares so de Haden e Tommy Atkins, o que torna a mangicultura muito vulnervel. A escolha dever considerar tolerncia ou resistncia a doenas e pragas, produtividade, qualidade do fruto e caractersticas adequadas ao processamento. O planejamento adequado de um mangueiral deve ser feito com antecedncia, de forma ordenada, realizando estudos bsicos, os quais orientem um plano de explorao da propriedade, cujos procedimentos podem
144
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
viabilizar ou inviabilizar o agronegcio. Esses estudos bsicos compreendem o levantamento das condies climticas; caractersticas fsico-quimicas do solo; disponibilidade de recursos hdricos; infra-estruturas; etc. Os vrios aspectos envolvidos na implantao de um mangueiral, de forma individual ou com fruta, so importantes na produo de frutos e sero descritos a seguir:
2.1. Climticos
Neste aspecto, de acordo com KAVATI (1996, p.74), vrios autores consideram que para as condies brasileiras, a extenso territorial disponvel favorvel cultura bastante extensa, visto que toda a regio ao norte do paralelo 25 Sul pode ser cultivada, evitando-se apenas as regies frias por excesso de altitude ou solo pouco profundo, excessivamente compacto ou encharcado. A mangueira planta originria da sia Meridional e Arquiplago Indiano, regio de clima tropical, caracterizada por uma alternncia bem ntida de estaes secas e midas. Nessas condies, a planta tem desenvolvimento vegetativo adequado no perodo das guas e florescimento e frutificao no perodo seco. O perodo seco deve ocorrer um pouco antes da poca do florescimento e, para melhores resultados, deve continuar durante esta fase, at o incio do desenvolvimento dos frutos. Este perodo seco tem forte influncia na diferenciao das gemas vegetativas e florais, evitando os riscos de ataque de fungos nas flores e nos frutos (KAVATI, 1996, p. 74; SIMO, 1998, p. 600). A mangueira, embora tolere ampla variao de condies climticas, o xito de seu plantio em escala comercial somente possvel dentro de certos limites especficos e bem definidos de temperatura e precipitao pluviomtrica, pois as condies atmosfricas exercem notvel influencia sobre a produtividade e a qualidade dos frutos (MEDINA et al., 1981. p. 112).
145
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
TEMPERATURA
Dos fatores climticos, a temperatura um dos mais importantes, pois, alm de controlar os processos vitais da planta, constitui um dos principais fatores determinantes da produo. Os limites mnimos e mximos so os mais importantes. E a mangueira, neste caso, tolera temperaturas desde 0 at 50C. Temperaturas inferiores a 2C causam danos elevados em rvores adultas e podem provocar a morte de plantas jovens. Temperaturas altas no prejudicam, porm, se acompanhadas de vento e baixa umidade relativa, os danos podero ser elevados no perodo de frutificao (SIMO, 1998, p. 600). A variao mdia de temperatura para um timo crescimento da mangueira situa-se entre 24 a 30C. A temperatura, alm de agir sobre o florescimento, influencia a poca de colheita, antecipando ou retardando (SIMO, 1998, p. 601). As baixas temperaturas durante o florescimento impedem a abertura das flores e o desenvolvimento do tubo polnico, podendo em alguns casos, provocar o aparecimento de frutos partenocrpicos. No Estado de So Paulo, seu efeito se faz sentir sensivelmente nas floradas de maio e junho, no inverno, as quais normalmente no chegam a frutificar (SIMO, 1998, p. 600). A mangueira muito afetada por geadas e os danos dependem de vrios fatores, como a idade da rvore, o teor de umidade do solo e o estdio de crescimento da planta (ativo ou dormente), alm da poca, severidade e durao da geada. Geralmente, as rvores jovens com lenho imaturo e aquelas em crescimento muito ativo so mais severamente afetadas do que as rvores mais desenvolvidas e de lenho maduro e aquelas em estado dormente. Diferena de 2 a 3C comumente admitida, o que significa que as mangueiras em crescimento ativo, podem ser afetadas a 10C, enquanto aquelas em estdio de dormncia podem suportar temperatura to baixa como 1C, durante curto perodo. Mangueiras idnticas em crescimento e idade e crescendo em solos secos so tambm severamente danificadas quando comparadas com aquelas crescendo em solo mido (MEDINA et al., 1981, p. 113).
146
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
PRECIPITAO PLUVIOMTRICA
A mangueira vegeta e frutifica em reas onde a precipitao varia de 240 a 5.000 mm. Os limites da precipitao pluvial com que a mangueira pode ser cultivada com xito so amplos, vagos e variveis. Sob temperatura favorvel e precipitao to baixa, como 200 a 250 mm, mas com uso de irrigao, a mangueira pode crescer com sucesso. Tambm desenvolve bem sob boas condies de drenagem e de precipitao to alta como 1.900 a 2.500 mm ou mais. A quantidade de precipitao em si no parece ser significativa, mas, sim, sua distribuio que tem grande importncia (MEDINA et al. 1981, p. 115). A mangueira produz mais e frutos de melhor qualidade nas regies onde ocorre uma estao seca bem definida durante o perodo de florescimento e frutificao da planta, isto , as melhores regies para a implantao da cultura comercial da mangueira so aquelas onde uma estao chuvosa alterna com um perodo de seca pronunciada durante o perodo de florescimento do ano. A estao seca importante, pois provoca uma dormncia temporria que necessria para prevenir excesso de crescimento vegetativo s expensas da produo de flores durante o perodo normal de florescimento. A flor da mangueira bastante delicada e facilmente danificada pelo clima mido. Alm disso, no perodo chuvoso, os insetos polinizadores tem suas atividades afetadas e no h polinizao. A falta de agentes de transferncia considerada um dos fatores importantes que afetam a frutificao (MEDINA et al. 1981, p. 115). A mangueira necessita de maiores quantidades de gua na fase de planta nova, da planta adulta quando em pleno crescimento vegetativo, na fase de frutos j vingados e aumentando de tamanho e peso; de menor quantidade de gua disponvel no perodo de repouso vegetativo, para estimular um intenso florescimento, e no perodo de florescimento, para evitar prejuzos que podem ser causados pelas doenas, prejudicar as atividades dos insetos polinizadores, causar injrias nos estigmas e um baixo vingamento dos frutos. Na fase final da formao, no desenvolvimento e amadurecimento dos frutos, a planta necessita de gua disponvel no solo, porm de pouca chuva, para no ocorrerem manchas nos frutos, rachaduras, baixo teor de slidos solveis totais, de pssima qualidade para o consumo e de baixo valor comercial (MANICA, 2001, p. 55).
147
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
As chuvas lavam os gros de plen, alm de proporcionar o aparecimento, principalmente de doenas fngicas. As regies onde a precipitao se situa entre 800 a 1.300mm anuais, desde que apenas pequena parte ocorra durante o perodo de florescimento, parecem ser ideais para a implantao da cultura. Embora a mangueira seja considerada uma planta bastante resistente seca, alguns estudos tm demonstrado que a mesma apresenta maior crescimento vegetativo, maior reteno de frutos e conseqentemente, maior produtividade sob condies de irrigao. A gua no solo afeta o crescimento da parte area e do sistema radicular, ou seja, medida que se reduz a sua disponibilidade, diminui sensivelmente o crescimento da planta, sendo as razes menos afetadas que as brotaes da parte area (CASTRO NETO, 1995, p. 83). Segundo WHILEY & SCHAFFER (2000, p. 147), a grande tolerncia da mangueira seca reforada por aspectos peculiares de sua fisiologia, em relao ao seu comportamento hdrico. Destes fatores, destacam o sistema radicular profundo, razes superficiais resistentes ao dessecamento e sistemas de canis de ltex, que conferem mangueira, capacidade de sobrevivncia em ambientes de extrema deficincia hdrica, alta demanda evapotranspiratria por perodos prolongados, como ocorre em regies tropicais. O estresse hdrico tem sido considerado por vrios autores como um dos fatores de induo floral da mangueira. Dentre eles, NEZ-ELISEA & DAVENPORT, 1994, p. 57 e SCHAFFER et al., 1994, p.165. A aplicao do estresse hdrico sob condies de temperaturas noturnas abaixo de 15C no aumentou a proporo de gemas reprodutivas, quando comparado com o tratamento irrigado, provocando, entretanto, iniciao rpida na brotao das gemas. Tais resultados sugerem que baixas temperaturas proporcionaram condies necessrias para a induo, enquanto a irrigao, nessas condies, acelerou a brotao das gemas (NEZ-ELISEA & DAVENPORT, 1994, p. 57). O principal impacto do estresse hdrico na mangueira o de conter os fluxos vegetativos. A idade acumulada dos ramos maior nas rvores estressadas que naquelas sob condies timas de disponibilidade de gua (DAVENPORT & NUNEZ-ELISEA, 2000, p. 69). O atraso na brotao das gemas, causado pelo estresse hdrico, pode aumentar o tempo para acumulao do estmulo floral (SCHAFFER et al. 1994; DAVENPORT & NUNEZ-ELISEA, 2000, p.69).
148
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
UMIDADE RELATIVA
A umidade relativa do ar durante o ciclo da cultura da mangueira bastante importante, por favorecer o aparecimento de doenas fngicas. Quando altos valores de umidade relativa esto associados a temperaturas elevadas, ocorre maior incidncia de doenas fngicas, provocando danos econmicos, podendo, s vezes, inviabilizar a produo comercial de frutos, (LIMA FILHO et al., 2002, p. 44). Durante o perodo de repouso vegetativo, a umidade relativa pode ser baixa, sem causar prejuzos mangueira. A umidade relativa alta pode prejudicar as flores e os frutos pela possibilidade de um mais intenso ataque da antracnose (Colletotrichum gloesporioides). Por outro lado, nos perodos muito secos, com baixa umidade relativa, seguidos de perodos com aumento imediato da umidade relativa, aparecem nas plantaes muitos frutos rachados, uma vez que o aumento do volume da polpa mais intenso do que a expanso externa da casca, causando o seu rompimento. Geralmente esses frutos so facilmente atacados por doenas, prejudicando o seu desenvolvimento e o seu completo amadurecimento (MANICA, 2001 p. 57). Em anos excessivamente midos na poca da florada, a produo pode ser parcial ou totalmente perdida. Condies midas e tempo encoberto quando as mangueiras esto em pleno florescimento, mesmo que no ocorram chuvas, so muito prejudiciais (SIMO, 1998, p. 603).
VENTOS
Ventos intensos causam grandes prejuzos pela queda de flores e frutos, que provocam. Por isso, regies livres de ventos fortes devem ser preferidas para o estabelecimento das plantaes. Os prejuzos causados pelo vento podem exceder a mais de 20% quando os frutos se encontram em fase final de desenvolvimento (SIMO, 1998, p. 602). As perdas provocadas pelo vento dependem da sua freqncia, da fase da planta (florescimento, frutificao, dormncia) e da densidade de plantio. Quando uma planta est em pleno florescimento, vingamento dos frutos ou com ramos muito carregados de frutos, os ventos intensos causam grandes quedas de flores e de panculas, aparecendo muitos ramos quebrados e reduo de frutos nas plantas, devido sua queda, alm de depreciar
149
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
os frutos, por provocar leses na sua casca, devido ao atrito com as folhas e ramos, principalmente quando os frutos esto bem pequenos e com a casca extremamente delicada (MANICA, 2001, p. 57). Os ventos constantes, ainda que de baixa velocidade, afetam as mangueiras pelo excesso de evaporao da gua do solo, principalmente nos locais onde a precipitao fator limitante. Ventos de 10 a 29 metros por segundo podem causar prejuzos, que s vezes ultrapassam 20% da produo. (MEDINA et al. 1981, p. 120).
INSOLAO
A mangueira uma planta exigente em radiao solar para poder florescer, fixar os frutos e permitir o seu pleno desenvolvimento. A densidade do plantio deve permitir penetrao de sol nas mudas adultas, devendose evitar plantios muito densos, onde as plantas podem florescer abundantemente, mas sem frutificar, pela ausncia de insolao direta. As inflorescncias na mangueira surgem abundantemente ao redor da copa, na sua parte externa, praticamente sem flores na parte mais interna da planta. Tem sido comprovado que em locais de maior insolao ou nas plantas bem formadas com maior intensidade de luz na sua parte interna, os frutos so de maior tamanho, em maior quantidade e de colorao muito mais intensa na parte externa da casca em comparao com os frutos de plantas em locais de menor insolao ou de mudas muito fechadas com grande dificuldade de penetrao de luz na sua parte interna (MANICA, 2001, p. 55). Locais sujeitos nebulosidade por perodos prolongados interferem na porcentagem de pegamento dos frutos. As nuvens afetam a safra pela interceptao do calor do solo, causando assim em alguns casos, queda de flores e frutos pequenos. A neblina assim como o orvalho tambm causam prejuzo. (MEDINA et al., 1981, p. 119).
ALTITUDE
A mangueira cresce em altitudes desde o nvel do mar at 1300 m, nas regies tropicais, porm, no pode ser cultivada em escala comercial em localidades acima de 650 m (MEDINA et al., 1981, p. 117). A altitude do local a ser implantado com mangueira deve ser tambm
150
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
considerada, uma vez que a temperatura pode exercer papel importante na produo dos frutos. De maneira geral, considera-se que altitude superior a 600 m no adequada para a cultura (KAVATI, 1996, p. 75). Acima desta altitude, as mangueiras podem crescer, mas raramente produzem safras rentveis. Na maioria dos casos, so severamente afetadas pelas temperaturas baixas de inverno e o florescimento e frutificao so sensivelmente prejudicados, alm da grande dificuldade que se tem em estabelecer as plantas novas (MEDINA et al., 1981, p. 117). Normalmente, para cada 150 m de aumento na altitude, a temperatura baixa um grau centgrado, geralmente ocorrendo um atraso de 5 dias no perodo de florao e amadurecimento dos frutos. A altitude atrasa a florao em 4 dias a cada 120 metros, como a latitude retarda a florao em 4 dias para cada grau (MANICA et al., 2001, p. 56). Por outro lado, em regies de maior altitude, existe a possibilidade de colher frutos maduros mais tarde, garantindo melhor preo mdio para o produtor, como para a industria, que pode receber frutos durante um perodo maior durante o ano. Com uma combinao de variedades e locais de plantio em regies de maior ou menor altitude, possvel, oferta de frutos por um perodo maior (MANICA, 2001, p. 56).
2.2. Edficos
A mangueira, de acordo com vrios autores, considerada uma das plantas mais rsticas, adaptando-se aos mais variados tipos de solo, quer sejam arenosos, argilosos, porm com a ressalva de serem profundos, permeveis, drenados e ligeiramente cidos (SIMO, 1998, p. 603). Os solos alcalinos no so muito favorveis e quando muito alcalinos danificam a mangueira, que, dependendo do teor de sais de certos perfis, pode vir a apresentar sintomas de clorose (MEDINA et al., 1981, p.119). Os solos excessivamente argilosos e pouco profundos devem ser evitados, a menos que se realize um excelente servio de drenagem, pois a mangueira no tolera solo encharcado, preferindo os solos secos aos midos. Por outro lado,os arenosos, embora valiosos, muitas vezes deixam a desejar, por reterem pouca umidade, impedindo o pegamento dos frutos, quando o perodo de estiagem se prolonga por trs a quatro meses aps o florescimento (SIMO, 1998, p. 603).
151
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
Solo com pH entre 5,5 e 7,5 considerado o mais adequado para a mangueira (MEDINA et al., 1981, p.119). Como a mangueira uma planta com sistema radicular muito amplo, deve-se levar em considerao a natureza do subsolo e tambm o nvel fretico, que deve se situar abaixo de 1,8-2,5m. Vrios autores mencionam que os solos profundos (2,0 a 2,5m) so os mais indicados para a cultura (MANICA, 2001, p.63).
3. LOCALIZAO DO POMAR
A rea onde ser instalado o pomar deve ser selecionada considerando: aspectos climticos, edficos, existncia de infra-estruturas tais como a vias de acesso, as quais devem permitir circulao de veculos durante o ano todo, disponibilidade de mo-de-obra, principalmente no perodo da colheita; disponibilidade de gua em quantidade e qualidade, com facilidade de captao, alm de restries fitossanitrias, etc. Fatores que influenciaro de forma direta nas prticas culturais e no escoamento da produo (KAVATI, 1996, p.77). reas castigadas por ventos fortes ou frios devem ser evitadas, pois, s vezes, podem impedir o xito comercial da cultura.
4. DISTRIBUIO DOS TALHES, CARREADORES E ESTRADAS.
Para o planejamento dos talhes e do sistema de plantio a ser adotado, vrios fatores devem ser levados em considerao: declividade e conformao do terreno; tipo de solo (se arenoso e, portanto, mais sujeito eroso, deve-se tomar mais cuidados conservacionistas); eliminar, sempre que possvel, linhas mortas que dificultam os tratos culturais, dentre eles, a irrigao; deve-se considerar a possibilidade de irrigar futuramente determinados talhes, levando em conta o sistema que poder ser adotado (asperso, canho, autopropelido, etc); existncia de estradas e divisas que podero ser utilizadas para a demarcao das glebas; esquematizar as propriedades sempre pensando em expandiu a cultura, preparando os talhes limtrofes para uma eventual ampliao.
152
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
Os talhes que sero implantados dependem da declividade e da uniformidade do terreno. Dessa forma, podem existir 3 tipos de talhes: talhes quadrados (Figura 2), talhes retangulares (Figura 2) e talhes irregulares. Os talhes retangulares so mais indicados para terrenos planos ou com pequena declividade (5 a 6%), uniformes, e, portanto, pouco sujeitos eroso. Os talhes irregulares so utilizados em terrenos irregulares, que apresentam mais de uma declividade e so mais sujeitos eroso. Os carreadores podem ser contnuos, quando o terreno plano ou com pouca declividade ou desencontrados (Figura 3), quando h desnvel acentuado em um sentido, evitando que carreadores muito longos funcionem como canais de escoamento das guas de chuvas e causem srios problemas de eroso. Os carreadores principais so locados em nvel ou com desnvel de (1,5%) (1,5 m por 100metros), para evitar o acmulo de gua. Os carreadores secundrios ou pendentes so sempre desencontrados, obedecendo a uma inclinao de mais ou menos 4 5 em relao aos principais e no devem ter mais que 200 metros, se a declividade for muito acentuada ( DE NEGRI & BLASCO, 1991, p. 321)
Fonte: DE NEGRI & BLASCO (1991)
Figura 1. Talhes quadrados com carreadores contnuos.
Fonte: DE NEGRI & BLASCO (1991)
Figura 2. Talhes retangulares com carreadores contnuos.
153
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
Fonte: DE NEGRI & BLASCO (1991)
Figura 3. Talhes quadrados com carreadores desencontrados.
Fonte: DE NEGRI & BLASCO (1991)
Figura 4. Talhes irregulares com carreadores desencontrados.
5. DIMENSO DOS TALHES
Os talhes no devem ser muito grandes por diferentes razes, dentre elas, destaca-se a dificuldade em controlar algumas doenas e pragas que, muitas vezes, atacam apenas parte do talho e a obriga-se a pulverizao do talho todo, devido dificuldade em separ-lo somente para aquela operao. Em grandes propriedades, comum existirem reas mais sujeitas a determinados problemas em razo de microclimas, que s sero conhecidos aps seu aparecimento sistemtico. Outra razo para se estabelecer o comprimento das ruas do talho a quantidade de calda que ser gasta numa pulverizao, quando as plantas estiverem adultas, para que a operao sempre termine no final ou incio da rua, evitando demasiado transito do equipamento, sem estar operando. Para efeito de manejo integrado de pragas e doenas, tambm no se recomendam talhes muito grandes, para
154
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
facilitar a tomada de decises e evitar desperdcios desnecessrios (DE NEGRI & BLASCO, 1991, p. 322). Os talhes no devem ser grandes, tambm no podem ser demasiadamente pequenos, porque as perdas com carreadores passam a ser considerveis e devem ser levadas em considerao, principalmente face ao elevado custo das terras. Geralmente, os carreadores consomem 5 % da rea a ser destinada aos pomares (DE NEGRI & BLASCO, 1991, p. 322).
6. SISTEMAS DE PLANTIO
O sistema de plantio a ser empregado dever ser estudado para cada talho e est em funo da caracterstica de cada um, como declividade, uniformidade, etc. De acordo com (DE NEGRI & BLASCO, 1991, p. 326), existem basicamente dois tipos de plantio: em linha reta ou em nvel. O plantio em linha reta utilizado em terrenos planos ou com desnvel uniforme em um nico sentido e pode ser feito de duas maneiras: a) Plantio em linhas retas paralelas ao carreador, utilizado quando o terreno plano, ou cujo desnvel perpendicular aos carreadores superior e inferior do talho (Figura 5)
Fonte: DE NEGRI & BLASCO (1991)
Figura 5. Alinhamento em retas paralelas ao carreador.
155
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
b) Plantio em linhas retas paralelas s linhas de desnvel (cortando as guas) utilizado em terrenos com declive uniforme em um nico sentido, porm no paralelo aos carreadores (Figura 6).
Fonte: DE NEGRI & BLASCO (1991)
Figura 6. Alinhamento em retas paralelas a linha de nvel. O plantio em nvel, recomendado para talhes com declividade mais acentuada e topografia irregular, deve ser demarcado com o auxilio de uma nivelada bsica fazendo o primeiro sulco com o trator e sulcador de cana. A partir disso, os sulcos paralelos podem ser feitos com o uso de uma estaca, com a dimenso desejada para as entrelinhas, conduzido por dois operrios, de tal forma que uma ponta fique sobre o sulco j aberto e a outra marque onde o sulcador dever abrir o novo sulco (Figura 7). Dentre os sulcos j demarcados e a partir do centro do talho, so locados os pontos onde sero plantadas as mudas com o auxlio de uma estaca ou corrente, sendo que os dois devero ser trabalhados dentro dos sulcos, para evitar erros de inclinao (Figura 8).
156
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
Fonte: DE NEGRI & BLASCO (1991)
Figura 7. Demarcao de sulcos paralelos nivelada bsica.
Fonte: DE NEGRI & BLASCO (1991)
Figura 8. Alinhamento em sulcos paralelos nivelada bsica.
157
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
7. AQUISIO DAS MUDAS
No Brasil, at h alguns anos, o cultivo da mangueira era mais limitado a plantios domsticos, cuja produo era destinada ao consumo local e o excesso no tinha perspectiva de boa comercializao, sendo a propagao feita quase exclusivamente por sementes. Com o desenvolvimento da cultura, esta fruta atingiu posio de destaque nas exportaes brasileiras, tornando-se necessria a utilizao de mudas de boa qualidade para instalao de pomares com alto potencial produtivo e frutos com boa qualidade (CASTRO NETO et al. 2002, p. 119). Com a exigncia, em termos de qualidade das mangas, tanto no mercado interno como no externo, os produtores se conscientizaram de que a produtividade do pomar e a qualidade de seu fruto comeam pela muda de boa qualidade. Na mangicultura, assim como em outras culturas frutferas, a muda de boa qualidade representa no apenas lucros na implantao do pomar em funo do crescimento rpido da muda sadia e bem formada, mas tambm assegura maior probabilidade de sucesso em outras prticas que sero empregadas futuramente (CASTRO NETO et al., 2002, p.119). Mas, como nem sempre possvel a aquisio de mudas das variedades desejadas em qualidade e quantidade, importante que isso seja antecipadamente planejado. Para um bom planejamento, deve-se escolher um viveirista idneo, encomendar e contratar o fornecimento das mudas, especificando-se as variedades, bem como os porta-enxertos desejados, quantidade, poca de entrega, preos e garantias. fundamental que o viveiro escolhido para essa finalidade tenha capacidade tcnica e estrutural para assegurar a qualidade das mudas, dentro dos padres estabelecidos (KAVATI, 1996, p. 77). Na produo de mudas de manga, recomenda-se o uso de sementes e material de propagao para copa (garfos e borbulhas) provenientes de plantas matrizes de produtor registrado e devidamente credenciado pelo Ministrio da Agricultura, pelas Delegacias Federais de Agricultura , ou por Instituies de Pesquisa , ouvida a Comisso Estadual de Sementes e Mudas CESM local (CASTRO NETO et al., 2002, p.135).
158
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
8. PREPARO DA REA 8.1. Preparo do Solo
As operaes de preparo do solo devem ser feitas com bastante antecedncia em relao ao plantio. Consistem na roagem, queima do mato, encoivaramento e destoca. Aps a limpeza da rea, procede-se subsolagem se necessrio, arao e 20-30 dias aps realizam-se a calagem e gradagem. Ao final, devem ser estabelecidas as curvas de nvel e marcao das linhas e covas de plantio.
8.2. Espamento
O espaamento depende do cultivar, especialmente do hbito de crescimento, porta-enxerto, finalidade da produo, dos implementos agrcolas utilizados no manejo da cultura, das podas de formao, conduo e frutificao, bem como da profundidade e da fertilidade do solo, alm do perodo de vida til que se espera do pomar. A mangueira, quanto vegetao, difere muito das outras rvores frutferas. Desenvolve-se por um perodo longo (oito meses), durante o ano. Nesta fase vegetativa, produz de trs a quatro fluxos vegetativos, aumentando dessa forma o volume de sua copa, pelo crescimento em altura e dimetro, ampliando dessa forma, a sua capacidade produtiva (SIMO, 1998, p. 607). Os conhecimento sobre o hbito de crescimento da mangueira fornecem meios para correlacionar sua forma e suas dimenses, com um espaamento compatvel com sua atividade biolgica, evitando erros na formao do pomar, os quais se refletiro na produtividade (SIMO, 1998, p. 608). As mangueiras s frutificam ao redor da copa e quando ela se encontra exposta luz. medida que as mangueiras vo se desenvolvendo, comeam a tocar uma nas outras e, alm da reduo no nmero de frutos, propiciam ambientes favorveis presena, principalmente de doenas fngicas, como odio e antracnose. Alm dos prejuzos no rendimento, aumenta a dificuldade para a realizao do controle fitossanitrio (KAVATI, 1996, p. 99; SIMO, 1998, p. 608).
159
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
O comportamento da mangueira foi caracterizado por KAVATI (1989, p. 99), que, realizando um levantamento em 20 pomares, envolvendo as variedades Haden, Tommy Atkins e Keitt, na regio de Lins - SP, observou que a planta apresenta desenvolvimento inicial lento e a partir do quarto ou quinto ano aps o plantio, tem uma alta taxa de crescimento vegetativo, comprovando-se um elevado ritmo de crescimento da planta, quando comparado s outras regies do mundo. Com relao ao nmero de fluxos de crescimento, verificou-se que a variedade Tommy Atkins apresentou mdia de 2,7 , enquanto a Haden e a Keitt, 4 fluxos. O maior ou menor nmero de fluxos no est diretamente relacionado com o crescimento, pois as variedades Tommy Atkins e Keitt foram semelhantes, apresentando crescimento da poro terminal do ramo pouco superior a 50cm, enquanto na Haden, este crescimento foi superior a 60cm (Tabelas 1 e 2 ) (KAVATI, 1989, p. 99). No Brasil, em pomares irrigados do sudeste e do centro-oeste, a densidade de plantio mais comum de 100 plantas.ha-1 (10x10 m). Nos plantios com tecnologia de produo para exportao, como a do semi-rido nordestino, onde a irrigao obrigatria, a densidade de plantio mais comum de 250plantas/ha (espaamento de 8x5 m). Maiores densidades j esto sendo empregadas nessa regio, porm exigem-se manejos mais adequados quanto aos tratos culturais, principalmente podas, irrigao e nutrio (ALBUQUERQUE et al., 1999). CUNHA & CASTRO NETO (2000) recomendam para as condies dos tabuleiros costeiros, espaamento de 7 x 4,5 m.
160
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
Tabela 1. Nmero de fluxos de crescimento terminal dos ramos em uma estao, de 3 variedades de mangueira com diferentes idades, 1988.
Variedades
Tommy Atkins
Ano de Plantio 1978 1983 1984 1985 1986 1987 1978 1980 1982 1983 1981 1983 1985 1987
Keitt
Haden
N de fluxos de Crescimento 2,46 2,58 2,47 2,41 3,25 3,25 Mdia 2,73 3,42 3,75 2,75 3,25 Mdia 3,29 3,66 3,00 4,00 3,25 Mdia 3,47
Comprimento (cm) 51,38 53,79 51,82 49,35 44,66 62,83 Mdia 52,30 51,42 62,68 45,00 52,92 Mdia 54,00 59,91 58,30 59,16 62,83 Mdia 60,05
Fonte: KAVATI (1989)
161
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
Tabela 2. Altura da planta, dimetro da copa e seco transversal do tronco, de 3 variedades de mangueira com diferentes idades, 1988.
Variedades Ano de Plantio 1978 1983 1984 1985 1986 1987 1978 1980 1982 1983 1981 1983 1985 1987 Altura (m) 6,40 4,28 3,37 2,88 2,15 1,59 4,57 4,36 4,17 4,07 4,67 4,90 3,47 1,59 Dimetro da copa (m) 7,48 5,42 4,20 2,57 1,65 0,94 4,65 5,05 4,90 4,95 5,75 7,00 4,30 0,94 Seco Transversal do tronco (cm) 606 253 132 82,5 38 19 362 251 211 150 343 3,57 172 19
Tommy Atkins
Keitt
Haden
Fonte: KAVATI (1989)
MANICA (2001, p. 184) divide os espaamentos mais utilizados no mundo para a cultura da mangueira da seguinte forma: a) para os plantios com cultivos intensos, como poda de formao da planta, poda sistemtica de frutificao, manuteno da altura da planta controlada e com irrigao, a rea disponvel por planta, tm sido desde 9 at 24,5 m.; b) alguns pases, mesmo adotando as prticas acima, realizam plantios com espaamentos intermedirios e com rea total por planta variando de 24 at 72 m ; c) para os plantios em locais de solos frteis, clima tropical e muito favorvel mangueira, sem as podas sistemticas para controlar a altura e crescimento lateral da planta (conduzida livremente), a rea ocupada pela planta varia de 77 a 120 m. Essas informaes podem ser visualizadas na Tabela 3. Outros espaamentos tm sido utilizados em funo do solo e do manejo da cultura. Assim, em solos pobres da Flrida, de acordo com CAMPBELL & MALO (1974), tm sido recomendados espaamentos de l0m x 8m, 8m x 8m, l0m x 5m e 8m x 5m (para futuro desbaste) ou 9m x 9m; 9m x 6m e 6m x 6m, sendo que nos menores deve ser feito a partir do 5 ou 6 ano ps-plantio, um desbaste de parte das plantas.
162
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
A disposio das plantas no campo pode ser quadrangular, retangular ou triangular, porm, predomina o quadrado (MEDINA et al., 1981). A reduo do porte da planta tem sido motivo de pesquisas, pois facilita a execuo de tratos culturais e colheita, alm de muitas vezes, aumentar a produo por rea. Nesse sentido, destacam-se a obteno de porta-enxertos ananicantes, interenxertia e uso de produtos qumicos. Em trabalho desenvolvido por RAMOS et al. (1996), verificou-se que os porta-enxertos com maior tendncia ananicante foram Ma (2,20m), Imperial (2,41m), Mallika (2,63m) e o Amrapali (2,82m). Com relao interenxertia, PINTO (1994) cita que utilizando como porta-enxerto a cultivar Espada, como interenxerto Santa Alexandrina e Tommy Atkins como copa, houve uma reduo de 53% na altura (2,7m), quando comparada com a enxertia normal (5,7m), em plantas com 12 anos de idade. Uma planta interenxertada de copa pequena produz entre 150 e 200 frutos, enquanto a mangueira enxertada de maior copa produz 400 frutos. No entanto, a mangueira interenxertada pode ser plantada em uma densidade de at 400 plantas/ha. ZARRAMEDA et al. (2000) trabalhando com 6 porta-enxertos, 3 interenxertos e 3 cultivares de copa, constataram que os resultados preliminares aos 40 meses idade para as combinaes Julie2 / Camphor / Tommy Atkins; Manzana / Camphor / Tommy Atkins; Peru / Tetenene manzana / Haden; Peru 2 / Tetenene manzana / Haden e Julie2 / Camphor / Haden mostraram valores de altura da planta e volume da copa significativamente menores que as demais combinaes para as mesmas copas. O cv. El Edward no mostrou diferenas significativas entre os valores das variveis em estudo para as combinaes avaliadas. SINGH & DHILLON (1992) verificaram que o cloreto de mepiquat (CCC) e o paclobutrazol (PBZ), alm da induo, so indicados para paralisar o crescimento. Nesse sentido, ALBUQUERQUE et al. (1996) trabalhando com cloreto de mepiquat (CCC) em concentraes variando entre 5000 e 15000ppm, verificaram que o produto paralisou o crescimento vegetativo da mangueira Tommy Atkins, independente das condies de umidade do solo, bem como promoveu boa florao, frutificao e fixao dos frutos.
163
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
Tabela 3. Diferentes espaamentos e densidade de plantas em locais de cultivo de manga no mundo (MANICA, et al. , 2002).
Espaamento (m) 3,0 x 3,0 3,0 x 3,9 3,0 x 4,0 3,0 x 4,5 3,0 x 5,0 4,0 x 4,0 3,0 x 5,4 3,5 x 5,0 3,5 x 6,0 3,6 x 4,5 4,0 x 5,0 3,0 x 7,0 3,5 x 7,0 4,0 x 6,0 4,0 x 7,0 5,0 x 5,0 5,0 x 6,5 5,0 x 7,0 5,0 x 8,0 5,4 x 7,2 6,0 x 6,0 5,5 x 7,0 6,0 x 7,5 6,5 x 8,0 7,0 x 7,0 6,0 x 9,0 7,0 x 8,0 8,0 x 8,0 6,0 x 12,0 7,0 x 11,0 8,0 x 10,0 9,0 x 9,0 8,0 x 12,0 9,0 x 10,5 10,0 x 10,0 11,0 x 11,0 10,0 x 12,0 12,0 x 14,0 rea por Planta (m) 9 11,27 12 13,5 15 16 16,2 17,5 21 16,2 20 21 24,5 24 28 25 33 35 40 38,9 36 38,5 45 52 49 54 56 64 72 77 80 81 96 94,5 100 121 120 168 N de plantas (ha) 1.100 854 833 740 666 640 617 571 476 606 500 476 408 416 357 400 300 285 250 257 277 210 222 192 204 185 178 156 139 129 125 110 103 105 100 82 83 60 Locais Observaes
Tailndia Israel, Ilhas Cnarias Ilhas Cnarias Flrida, Israel Israel Tailandia California Flrida, California Flrida Brasil Israel frica do Sul Brasil Flrida Venezuela Brasil Peru, Brasil Brasil, Peru Brasil, Peru Brasil, Peru Israel, Peru Brasil Brasil Brasil Camares Austrlia, Venezuela D.F. Brasil Venezuela, Tailndia Austrlia plantio atual Brasil Estado So Paulo Brasil Venezuela Filipinas Mxico Brasil, MG Estado So Paulo Estado So Paulo
Plantios recentes cv. Irwin 1 planta 8-12 anos
Plantios recentes Plantios recentes Plantios recentes Pesquisa cv. Haden Plantios recentes Elimina 1 planta Plantio recente Depois 10 x 10 m
Maya, Nimrod I. mecanizada I. mecanizada I. mecanizada Cultivares ans Plantios recentes Alfa Embrapa 142 Mxico Kensington, Keitt Keitt e Palmer
Ataulfo, T. Atkins Haden, Keitt, T. Atkins Ruby, Haden
164
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
8. 3. Coveamento
Uma vez definido o espaamento, feita a marcao das linhas de plantio, deve-se proceder abertura das covas, com pelo menos dois meses antes do plantio. As covas devem ter 50x50x50cm, devendo ser acrescido ao solo dos primeiros 20 cm, adubo mineral e orgnico. Tal mistura deve ser colocada na parte inferior da cova, permitindo maior aprofundamento do sistema radicular.
Fonte: CUNHA et al. (1994)
Figura 9. Separao da camada de terra da superfcie (A) da camada do subsolo (B) e inverso na cova para plantio.
8.4. poca de plantio
A melhor poca para o plantio aquela que coincide com o incio do perodo das chuvas, devido ao maior pegamento e menor custo devido aos menores gastos com irrigao. Todavia, quando possvel irrigar as mudas na cova, pode-se plantar em qualquer poca do ano. Sempre que possvel, deve-se dar preferncia a dias nublados e mais frescos, para a realizao do plantio.
165
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
8.5. Plantio
Antes do plantio, retira-se o saco plstico que envolve o bloco de terra com a muda. A muda deve ser colocada no centro da cova, de tal forma que seu colo fique 5 cm acima do nvel do solo, com o objetivo de evitar afogamento quando da acomodao do solo, pela irrigao ou chuvas. As covas devem ter uma bacia com um metro de dimetro, na qual, logo aps o plantio, so colocados cerca de 20 litros de gua. Sempre que possvel, recomendvel colocar cobertura morta sobre a cova, com o objetivo de reduzir perdas excessivas de umidade e proteger o solo ao redor da planta, das altas temperaturas. Quando necessrio,deve-se proteger as mudas contra o sol, com estacas de bambu ou madeira com altura de 1 a 1,5 m, cobertas com capim seco, palhas de arroz, etc.
9. TRATOS CULTURAIS 9.1. Controle de Plantas Invasoras
O conhecimento sobre a distribuio do sistema radicular de qualquer cultura essencial pela sua importncia na nutrio e absoro de gua, permitindo o uso mais racional de prticas de cultivo, tais como o manejo de plantas daninhas e do solo e uso de cultura intercalar (CARVALHO & CASTRO NETO, 2002, p. 153). CHOUDHURY & SOARES, (1992, p. 172) estudaram o sistema radicular da mangueira (Mangifera indica L.), com oito anos de idade, em espaamento de 10x10 m, irrigada por asperso sobcopa, na regio do Submdio So Francisco. Concluram que: a) na distribuio horizontal do sistema radicular da mangueira, 68 % das razes de absoro e 86 % das razes de sustentao esto localizadas na faixa de solo compreendida entre 90 a 260 cm, em relao ao caule; b) na vertical, do sistema radicular da mangueira, 65 % das razes de absoro e 56 % das razes de sustentao se distribuem de maneira uniforme nas trs primeiras camadas do solo (0 a 60 cm); c) a aplicao de fertilizantes deve ser feita na faixa de solo com maior concentrao de razes de absoro, que est compreendida entre 90
166
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
e 260 cm em relao ao caule; d) os locais para monitoramento do manejo de gua esto situados a 260 cm de distancia do caule e nas profundidades de 30 a 60 cm.; e) a concentrao de 68% das razes de absoro, compreendida entre 90 e 260 cm de distncia horizontal, em relao planta, define a rea que deve ser efetivamente molhada por planta, por ocasio da escolha e do dimensionamento dos sistemas de irrigao. Tais informaes podem ser mais bem visualizadas nas Figuras 10, 11 e 12.
167
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
Fonte: CHOUDHURY & SOARES (1992)
Figura 10. Dimetro de razes e distribuio horizontal do sistema radicular da mangueira cv. Tommy Atkins, em solo arenoso irrigado.
168
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
Fonte: CHOUDHURY & SOARES (1992)
Figura 11. Distribuio horizontal das razes de absoro da mangueira cv. Tommy Atkins e recomendao da localizao de fertilizantes (produtor) e tensimetros (pesquisa).
169
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
Fonte: CHOUDHURY & SOARES (1992)
Figura 12. Distribuio vertical do sistema radicular da mangueira cv. Tommy Atkins em solo arenoso irrigado. O controle das plantas daninhas tem como objetivo reduzir a competio por luz (plantas jovens), gua, nutrientes, bem como diminuir o nmero de plantas hospedeiras de pragas e doenas que atacam a mangueira. Em plantas jovens devem ser realizadas uma capina na coroa e durante o perodo seco, uma gradagem na entrelinha, e no das chuvas, uma roada. Durante a fase de formao do pomar (at o 3 a 4 ano), comum a utilizao de culturas intercalares, cujo manejo controla as plantas daninhas. Nas plantas adultas, realiza-se a capina na linha de plantas e no perodo das chuvas uma roada na entrelinha e no perodo seco, uma gradagem. A capina pode ser substituda por herbicidas do grupo Paraquat, Glifosate ou Terbacil. O cultivo com enxada e grade deve ser efetuado de tal forma que no provoque cortes acentuados nas razes.
170
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
9. 2. Cultivo de Plantas Intercalares
A utilizao de culturas intercalares em pomares prtica comum nas regies tropicais e tende a se intensificar em decorrncia da necessidade do aumento de produo de alimentos e riscos inerentes s atividades agrcolas. Quando realizada adequadamente, deve ser incentivada, com o objetivo principal de reduzir o custo de implantao e formao do pomar, melhoria do solo nas entrelinhas, alm de cumprir a funo social pela demanda de mo de obra. Em algumas regies do pas, a prtica especialmente comum na fruticultura de pequeno porte, na qual os produtores, usando de mo de obra familiar e poucos recursos financeiros, buscam maximizar o retorno econmico. O equilbrio no ecossistema outro aspecto relacionado com o cultivo consorciado. As monoculturas, por constiturem sistemas de produo mais simples e com pequena variabilidade gentica, apresentam maior instabilidade, favorecendo a ocorrncia, a multiplicao e a propagao de pragas, doenas e plantas invasoras (CARVALHO & CASTRO NETO, 2002, p.159). Para a escolha da cultura intercalar, o produtor deve lembrar-se de que o pomar a cultura principal e nenhuma outra deve interferir no seu desenvolvimento, assim como as plantas infestantes devem ser controladas. No planejamento do plantio, deve-se levar em considerao que durante o ciclo da cultura intercalar haver necessidade de utilizao de prticas de manejo, como adubaes, pulverizaes, colheitas, etc, podendo-se optar pelo plantio em parte da entrelinha ou em ruas alternadas (CARVALHO & CASTRO NETO, 2002, p. 159). Para o preparo do solo para a cultura intercalar, deve-se optar por tcnicas como plantio direto, evitando-se revolver o solo, cortar as razes da mangueira e favorecer a eroso. Com base nessas exigncias, as espcies para adubao verde so as mais indicadas e utilizadas pelas suas caractersticas e, tambm, como alternativa vivel como cobertura morta para controle das plantas daninhas e maior armazenamento de gua no solo. Nessas reas, alm da importncia de um manejo adequado do solo e da gua, necessrio buscarem-se alternativas para explorao agrcola durante a estao chuvosa, pois nesse perodo as reas ficam praticamente ociosas. O cultivo intercalar para fins de adubao verde constitui-se numa dessas alternativas (CHOUDHURY et al., 1991, p. 3)
171
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
O preparo do solo e plantio de culturas intercalares devem ser feitos de modo que causem o menor dano possvel ao sistema radicular, sendo recomendado realiz-los a partir de um metro de distncia da projeo da copa. As culturas intercalares mais viveis so: cereais anuais, mamo, abacaxi, banana, mamoeiro, maracujazeiro, melancia e outras, cuja produo poder amortizar os custos de implantao. Podem tambm ser utilizadas leguminosas e outras espcies que promovam melhoria no solo, tais como as contidas nas Tabelas 4 e 5. Tabela 4. Produtividade de massa seca-MS (kg. ha-1) e teor de nutrientes (%) de leguminosas e de espontneas, crescendo em Latossolo Vermelho-Escuro em Sete Lagoas, MG.
Espcies Feijo-bravo do Cear 0,08 0,77 1,11 Feijo-de-porco (Canavalia ensiformes) 5.371 0,06 0,46 0,95 Mucuna-preta (Stizolobium aterrimum) 6.986 0,10 0,82 0,51 Guandu (Cajanus cajan) 2.867 0,08 0,51 0,43 Lab-Lab (Dlochos 736 0,11 0,57 1,07 lablad) Panicum maximum 535 0,07 1,43 0,34 Melanpodium 301 0,13 1,60 0,94 perfoliatum Commelina benghalensis 112 0,10 2,35 0,52 Bidens pilosa 247 0,13 1,70 0,72 Richardia brasiliensis 60 0,08 1,25 1,74 Blainvillea latifolia 78 0,10 1,75 0,89 Spermacoce latiflia 36 0,10 1,41 1,06 Croton glandulosos 20 0,08 0,76 0,67 Portulaca oleracea 16 0,08 3,03 0,40 Emilia sonchifolia 14 0,08 1,65 0,74 Euphorbia heterophylla 10 0,28 1,98 0,54 Fonte: Adaptado de CARVALHO & CASTRO NETO (2002). MS Kg.ha-1 7.251 P K Ca Mg 0,09 0,09 0,08 0,06 0,10 0,13 0,20 0,16 0,14 0,13 0,16 0,14 0,19 0,27 0,14 0,09 C 37,62 37,84 38,45 39,03 37,22 36,94 36,15 33,21 37,15 27,71 32,18 32,30 36,40 33,26 36,43 35,86 N 2,64 2,31 3,06 2,33 2,74 2,43 1,70 1,74 1,89 1,92 2,23 2,58 2,48 1,91 2,15 1,44
172
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
Tabela 5. Quantidade mdia de nutrientes incorporados ao solo pelos adubos verdes, com base no material vegetal produzido.
Leguminosa C. juncea C. spectabilis Guandu Mucuna preta Mucuna an Lab-Lab Feijo-de-porco N 183 44 144 86 91 67 169 Macronutrientes (kg.ha-1) P2O5 K2O Ca 39 204 105 10 56 38 30 131 55 19 73 39 15 55 32 19 69 42 31 138 109 Mg 52 10 21 14 14 19 30 S 13 3 10 6 7 7 11 Micronutrientes (g.ha-1) B Cu Fe Mn 236 92 4,2 721 74 30 561 170 157 82 3,1 506 93 64 8,1 612 91 74 5,8 714 93 32 4,6 578 169 42 4,0 780 Zn 275 64 144 103 105 100 133
Obs: Quantidade de nutrientes, considerando-se plantio em rea total. Fonte: Adaptado de CARVALHO & CASTRO NETO (2002).
O principal objetivo do uso de cultura intercalar fornecer renda ao produtor, capaz de reduzir os custos de implantao do pomar nos dois primeiros anos, visto que nesse perodo, a produo de frutos pequena. Neste caso, h exigncia de tecnologia mais aprimorada tanto na irrigao, como na poda e no controle de doenas e pragas pois, geralmente, ocorrem problemas no muito comuns no plantio solteiro de manga. Em condio de cerrado, o amendoim-bravo (Arachis pintoi) tem sido testado em cultivo na entrelinha de fruteiras como espcie competidora com as ervas daninhas, podendo ser testada em outras regies (MOUCO et al., 2002, p. 142).
9. 3. Quebra -vento
Em regies onde ocorrem ventos intensos e constantes, estes podem provocar reduo significativa na produo, pois derrubam flores e frutos, alm de causarem ferimentos nos frutos pelo atrito com as folhas e ramos. Por outro lado, aumentam as taxas de transpirao da planta e evaporao do solo. Na regio do semi-rido brasileiro, o vento compromete o desenvolvimento das plantas, principalmente nos trs primeiros anos. Em funo disso, comum o uso do capim elefante, por apresentar desenvolvimento rpido e atingir altura de at 4 m. Tambm so utilizadas diversas espcies de frutferas como quebra-ventos, tais como bananeiras com 3 a 4 linhas de plantas instaladas entre talhes ou coqueiros nas margens laterais do plantio (MOUCO et al., 2002, p.139).
173
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
10. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALBUQUERQUE , J.A.; GURGEL, A.C.; SILVA JUNIOR, J.F.; LEITE, E.M. Florao da mangueira atravs do uso de inciso anelar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 13, 1994. Salvador, Resumos...Salvador: SBF, v.2. p.715-716, 1994. ALBUQUERQUE , J.A.; MOUCO, M.A.; SILVA, V.C. Regulao do crescimento vegetativo e florao da mangueira com cloreto de mepiquat. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 14, 1996. Curitiba, Resumos...Curitiba: IAPAR, p.304, 1996. ALBUQUERQUE, J.A.S. ; MOUCO, M.A.C.; MEDINA, V.D.; SANTOS, C.R. ; TAVARES, S. C. C. H..O cultivo da mangueira irrigada no semi-rido brasileiro . Petrolina, PE: EMBRAPA SEMI-ARIDO; Valexport, 1999. 77p. CAMPBELL, C. W. ; MALO, S. F. Fruit crops fact sheet The mango. Gainesville: University of Florida/IFAS, 1974 (FC 74 2). 4 p. CARVALHO, J. E. B.; CASTRO NETO, M. T..Manejo de Plantas Infestantes. In: A cultura da mangueira. GENU, P. J. C.; PINTO, A. C. (Ed.) . Braslia: EMBRAPA INFORMAES TECNOLGICAS, 2002, p. 145 164. CASTRO NETO, M. T. Aspectos Fisiolgicos da Mangueira sob condies irrigadas. In: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuria do Trpico Semi-rido (Petrolina, PE) Informaes Tcnicas sobre a cultura da Manga no semi-rido brasileiro. Braslia: EMBRAPA-SPI, 1995. p.8389. CASTRO NETO, M. T.; FONSECA, N.; SANTOS FILHO, H. P.; CAVALCANTE JUNIOR, A. T. Propagao e Padro da Muda. In: In: A cultura da mangueira. GENU, P. J. C.; PINTO, A. C. (Ed.) . Braslia: EMBRAPA INFORMAES TECNOLGICAS, 2002, p. 117 136.
174
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
CHOUDHURY, E. N.; FATRIA, C. M. B.; LOPES, P.R.C.; CHOUDHURY, M.M.. Adubao verde e cobertura em reas irrigadas o Submdio So Francisco: I Comportamento das espcies. Petrolina: EMBRAPA- CPATSA, 1991. 3p. (Comunicado Tcnico, 44). CHOUDHURY, E. N.; SOARES, J.M. Comportamento do sistema radicular de fruteiras irrigadas. I. Mangueira em solo arenoso sob irrigao por asperso sob copa. Revista Brasileira de Fruticultura, v.14, n.3, p. 169176, 1992. CUNHA, G.A.P.; SAMPAIO, J.M.M.; NASCIMENTO A.S.; SANTOS FILHO, H.P.; MEDINA, V.M. Manga para exportao: aspectos tcnicos da produo. Brasilia:EMBRAPA-SPI, 1994. 35p. (Serie Publicaes Tcnicas FRUPEX, 8). CUNHA, G.A.P.; CASTRO NETO, M.T. Implantao de pomar. In: Manga Produo: aspectos tcnicos. Braslia: EMBRAPA-IT, 2000. p. 29-30. (Frutas do Brasil, 12). DAVENPORT, T. L.; NHEZ-ELISEA. Reproductive physiology. In: LITZ , R. E. (Ed.). The mango: botany, production and uses, Florida: CAB International, 2000, p. 69 146. DE NEGRI, J. D.; BLASCO, E. E. Planejamento e Implantao de um Pomar Ctrico. In: Citricultura Brasileira. RODRIGUEZ, O.; VIGAS, F.; POMPEU JUNIOR, J. ; AMARO, A. A. (Ed.). 2 ed. Campinas, SP: Fundao Cargill, 1991, p.318 -332. KAVATI, R. Prticas culturais em mangueira no Estado de So Paulo. In: Simpsio Brasileiro Sobre Mangicultura, 2, 1989. Jaboticabal. DONADIO, L.C.; FERREIRA, F.R. (Ed.) Anais... Jaboticabal: FUNEP, p. 99-108, 1989. KAVATI, R. . Formao do Pomar e Tratos Culturais In: SO JOSE, A. R.; SOUZA, I. V. B.; MARTINS FILHO, J.; MORAIS, O. M. (Coord.) : Manga Tecnologia de Produo e Mercado. Vitria da ConquistaBA, DFZ/USB, 1996, p. 73 94.
175
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
LIMA FILHO, J. M. P. ; ASSIS, J. S.; TEIXEIRA, A. H. C.; CUNHA, G. A. P.; CASTRO NETO, M. T. Ecofisiologia,. In: A cultura da mangueira. GENU, P. J. C.; PINTO, A. C. (Ed.) . Braslia: EMBRAPA INFORMAES TECNOLGICAS, 2002, p. 37 - 49. LITZ, R.E.. The mango: botany, production and uses.Florida: CAB International , 2000, 587p. MANICA, I. Clima e solo. In: MANICA, I.; ICUMA, I.M.; MALAVOLTA, E.; RAMOS, V. H.V.; OLIVEITRA JUNIOR , M.E. CUNHA, M.M.; JUNQUEIRA, N.T.V. Manga: Tecnologia, Produo, Ps-colheita, Agroindstria e Exportao. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2001. 45 -86. MEDINA, J.C.; BLEINROTH, E. W.; MARTIN, Z. J.; QUAST, D. G.; HASHIZUME, T.; FIGUEIREDO, N. M. S.; MORETTTI, V.A.; CANTO, W.L.; BICUDO NETO, L.C. In: Manga: da cultura ao processamento e comercializao. Campinas: ITAL, 1981. 399p. (ITAL. Srie Frutas Tropicais, 8). MOUCO, M.A.C; ALBUQUERQUE, J. A. S.; PINTO, A.C.Q.; CASTRO NETO, M. T. ; BARBOSA, F.R. Implantao do Pomar. In: In: A cultura da mangueira. GENU, P. J. C.; PINTO, A. C. (Ed.) . Braslia: EMBRAPA INFORMAES TECNOLGICAS, 2002, p. 137-143. NEZ-ELISEA, R.; DAVENPORT, T. L. Flowering of mango trees in containers as influenced by seasonal temperature and water stress. Scientia Horticulturae, v. 58, p. 57-66, 1994. PINTO, A. C. Q. A Teortica no cultivo da manga. Braslia: EMBRAPA Cerrados, 2000. Apostila Tcnica Curso Frutal 2000. PINTO, A.C.Q. Utilizao do carter nanismo na eficincia do melhoramento e da produo de manga. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 13, 1994. Salvador, Resumos...Salvador: SBF, v.2. p.735-736, 1994.
176
Planejamento, Implantao e Tratos Culturais na Cultura da Mangueira
RAMOS, V.H.V.; PINTO, A.C.Q.; JUNQUEIRA, N.T.V.; GOMES, A.C. Efeito de porta-enxertos ananicantes de manga sobre o rendimento e altura da planta. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 14, 1996. Curitiba, Resumos...Curitiba: IAPAR, p.305, 1996. SCHAFFER, B.; ADERSON, P. C.; CRANE, J. H. Mango. In: SCHAFFER, B.; ANDERSON, P. C. (Ed.) Handbook of environmental physiology crops: sub-tropical and tropical crops. Boca Raton: CRC Press, 1994. v.2, p. 165-197. SILVA, D.A.M.; VIEIRA, V.J.S.; MELO, J.J.L; ROSA JNIOR, C.R.M.; SILVA FILHO, A.V. Mangueira (Mangifera indica L.): cultivo sob condio irrigada. Recife: SEBRAE, 1994. 42p. (Agricultura, 9). SIMO, S. Tratado de Fruticultura. Piracicaba: FEALQ, 1998, p.577563. SINGH, Z.; DHILLON, B.S. Effect of paclobutrazol on floral malformation, yield and quality of mango (Mangifera indica L.), Acta-horticulture, v. 296, 51-54, 1992. WHILEY, A. W. SCHAFFER, B. Stress physiology. In: The mango: botany, production and uses, Florida: CAB International, 2000, p. 147 -173. ZARRAMEDA, L.; AVILN, L.; RODRIGUEZ, M.; RUIZ, J. Resultados preliminares del efecto de patrones e interpatrones de bajo porte sobre el vigor de tres cultivares de mango. Agronoma Tropical, v.50, n.3, p.401411. 2000.
177
Manga - Produo Integrada, Industrializao e Comercializao
178
Você também pode gostar
- Biocontrole de Fitonematoides: atualidades e perspectivasNo EverandBiocontrole de Fitonematoides: atualidades e perspectivasAinda não há avaliações
- Manual de Analise Gráfica - InicianteDocumento2 páginasManual de Analise Gráfica - Iniciantelfdoria100% (3)
- Pragas de AbacaxiDocumento57 páginasPragas de AbacaxiTábatha Vasconcelos100% (2)
- Bananeira - Classificação BotânicaDocumento15 páginasBananeira - Classificação BotânicaAna Carolina MatiussiAinda não há avaliações
- Apostila Feijão - Agricultura Especial-I-CeepruDocumento9 páginasApostila Feijão - Agricultura Especial-I-CeepruMardone Visgueira100% (1)
- Apontamentos Culturas Arvenses - 080854Documento8 páginasApontamentos Culturas Arvenses - 080854Miguël Hënrysön MH MHAinda não há avaliações
- Cadeia Produtiva Do MorangoDocumento22 páginasCadeia Produtiva Do MorangoJuliana SoaresAinda não há avaliações
- Como produzir e melhorar sementes de milhoNo EverandComo produzir e melhorar sementes de milhoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 03 - Propagacao Manga Embrapa PDFDocumento56 páginas03 - Propagacao Manga Embrapa PDFmarcus11111100% (1)
- Melhoramento Das Pastagens NaturaisDocumento16 páginasMelhoramento Das Pastagens NaturaisAlfredo Mateus NgomaneAinda não há avaliações
- Apostila Fitopatologia 8-EPIDEMIOLOGIA PDFDocumento13 páginasApostila Fitopatologia 8-EPIDEMIOLOGIA PDFCaboclodaMataAinda não há avaliações
- Solo e Produção AgrícolaDocumento12 páginasSolo e Produção AgrícolaCastigo BenjamimAinda não há avaliações
- Repolho Projecto QuantitativoDocumento8 páginasRepolho Projecto QuantitativoCENTRAL CCMSAinda não há avaliações
- Aula 02 - Caracteristicas Das Plantas e Estabelecimento Do PastoDocumento51 páginasAula 02 - Caracteristicas Das Plantas e Estabelecimento Do PastoOssival RibeiroAinda não há avaliações
- MANGUEIRA e MamoeiroDocumento10 páginasMANGUEIRA e MamoeiroDayane MacedoAinda não há avaliações
- Quebra de DormenciaDocumento8 páginasQuebra de DormenciaThayse AndradeAinda não há avaliações
- Trabalho de God 1Documento18 páginasTrabalho de God 1Helder100% (1)
- Cultura de Tomate - Pedro Doda - Versao FinalDocumento72 páginasCultura de Tomate - Pedro Doda - Versao Finalarquimedeslacerda577Ainda não há avaliações
- Cultura de Beringela - OmarDocumento25 páginasCultura de Beringela - OmarMaarufo Ibn Mahabubi GiuaAinda não há avaliações
- Cultura Do Pimentão NAODocumento41 páginasCultura Do Pimentão NAOAnna Carolina DominguesAinda não há avaliações
- Ecologia Das Pastagens NaturaisDocumento32 páginasEcologia Das Pastagens NaturaisAlfredo Mateus NgomaneAinda não há avaliações
- Aplicação Foliar de Fertilizantes Organominerais em Cultura de Alface PDFDocumento5 páginasAplicação Foliar de Fertilizantes Organominerais em Cultura de Alface PDFAngélicaG.GarridoGomesAinda não há avaliações
- Manejo Integrado de Pragas (MIP) Na Cultura Da Soja: Um Estudo de Caso Com Benefícios Econômicos e AmbientaisDocumento46 páginasManejo Integrado de Pragas (MIP) Na Cultura Da Soja: Um Estudo de Caso Com Benefícios Econômicos e AmbientaisWillian ManchiniAinda não há avaliações
- Gergelim (Food For The Future)Documento5 páginasGergelim (Food For The Future)Eufrasio Horacio MuchangaAinda não há avaliações
- Monografia-1 Ivone para ImprimirDocumento41 páginasMonografia-1 Ivone para ImprimirbernardinoAinda não há avaliações
- Plano de Maneio Integrado TURMA ADocumento15 páginasPlano de Maneio Integrado TURMA Aleleco7582100% (1)
- Manual de Recomendações Técnicas Cultura Do MilhoDocumento11 páginasManual de Recomendações Técnicas Cultura Do MilhoThiago Silverio100% (2)
- Cultura Dos Citros - Alves, P. R. B. e Melo B PDFDocumento27 páginasCultura Dos Citros - Alves, P. R. B. e Melo B PDFViam prudentiaeAinda não há avaliações
- Cultura Do TomateDocumento27 páginasCultura Do TomateRebeca SoaresAinda não há avaliações
- Cultura Da MangaDocumento35 páginasCultura Da MangaFabio José Das DoresAinda não há avaliações
- Parasitoide Mosca Da Fruta - Eng. L.taperaDocumento65 páginasParasitoide Mosca Da Fruta - Eng. L.taperaLuis Tapera100% (2)
- Gercio 1Documento13 páginasGercio 1Gerson BeatsAinda não há avaliações
- Cultura de Couve ArturDocumento7 páginasCultura de Couve ArturFrancisco Mateus Tenesse100% (1)
- Maneio Integrado de Pragas 1Documento9 páginasManeio Integrado de Pragas 1Lëcky Dä Nëy GœnsälvësAinda não há avaliações
- Ananás Ou AbacaxiDocumento6 páginasAnanás Ou AbacaxiVeronica LacerdaAinda não há avaliações
- Cultura Da CenouraDocumento27 páginasCultura Da CenouraCleiton BlodowAinda não há avaliações
- (051811220523) Propriedades Organolepticas MadeiraDocumento5 páginas(051811220523) Propriedades Organolepticas MadeiraRodrigo AndradeAinda não há avaliações
- Mosaico Africano Da Mandioca (ACMVDocumento14 páginasMosaico Africano Da Mandioca (ACMVorcelio cumbeAinda não há avaliações
- Fisiologia Da FloraçãoDocumento53 páginasFisiologia Da FloraçãoJanaína Baldez0% (1)
- Brassicas PDFDocumento69 páginasBrassicas PDFalternativaquatroAinda não há avaliações
- Introdução HorticulturaDocumento16 páginasIntrodução HorticulturaChicote A. Tomas100% (1)
- Exercicios Extensao Rural 2018Documento1 páginaExercicios Extensao Rural 2018Norato XerindaAinda não há avaliações
- Her BarioDocumento21 páginasHer BarioCarimo gorges ArmandoAinda não há avaliações
- Pastos e ForragensDocumento17 páginasPastos e ForragensGuilhermino EugenioAinda não há avaliações
- Aula15 - Maneio Integrado de Pragas o Algodao - 12 de MaioDocumento41 páginasAula15 - Maneio Integrado de Pragas o Algodao - 12 de Maiogabriel manhicaAinda não há avaliações
- Fisiologia Do Crescimento e DesenvolvimentoDocumento18 páginasFisiologia Do Crescimento e DesenvolvimentoCalton Abel100% (1)
- Protocolo de Feijão VerdeDocumento12 páginasProtocolo de Feijão VerdeFaquiráAinda não há avaliações
- Pragas e InfestantesDocumento19 páginasPragas e InfestantesPedro Tome Dias100% (1)
- Características Das Principais Pragas de Grãos ArmazenadosDocumento7 páginasCaracterísticas Das Principais Pragas de Grãos ArmazenadosCamila TeixeiraAinda não há avaliações
- Alface PDFDocumento13 páginasAlface PDFJosé Marcos Queiroz JúniorAinda não há avaliações
- Agricultura AgroflorestalDocumento15 páginasAgricultura AgroflorestalAndré Gustavo Amorim SoaresAinda não há avaliações
- Apontamento AgropecuáriaDocumento3 páginasApontamento AgropecuáriaSalimo TidonioAinda não há avaliações
- Feijao VulgarDocumento19 páginasFeijao VulgarGuido JorgeAinda não há avaliações
- AgrossilviculturaDocumento10 páginasAgrossilviculturaAilon AmbasseAinda não há avaliações
- Anatomia Interna e Fisiologia Dos InsetosDocumento52 páginasAnatomia Interna e Fisiologia Dos InsetosJoselias Jara100% (1)
- Agricultura - Agricultura em Mocambique PDFDocumento32 páginasAgricultura - Agricultura em Mocambique PDFmanuelAinda não há avaliações
- Cultivo Couve-FlorDocumento86 páginasCultivo Couve-FlorLuis RogadoAinda não há avaliações
- Fotomorfogenese PDFDocumento30 páginasFotomorfogenese PDFRafael da RochaAinda não há avaliações
- Avaliação Contributo Serviços Extensão Agricultura ConservaçãoDocumento52 páginasAvaliação Contributo Serviços Extensão Agricultura ConservaçãoAntonio Manuel Dos Santos Jr.Ainda não há avaliações
- Book - Nouvelle BossaDocumento66 páginasBook - Nouvelle BossaFelippe ReboucasAinda não há avaliações
- ET207 - Redutores de 3 Classe (EDP Gás)Documento22 páginasET207 - Redutores de 3 Classe (EDP Gás)haca_34Ainda não há avaliações
- Politicas DesenvolvimentoDocumento13 páginasPoliticas DesenvolvimentoAlice SoaresAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado AGU AdministradorDocumento5 páginasEdital Verticalizado AGU AdministradorjorgeAinda não há avaliações
- A Utilização de Previdência Complementar Como Estratégia No Planejamento Tributário e Sucessório.Documento27 páginasA Utilização de Previdência Complementar Como Estratégia No Planejamento Tributário e Sucessório.brueconomistaAinda não há avaliações
- Gases e Termodinamica Com Cor Parte 1 PDFDocumento1 páginaGases e Termodinamica Com Cor Parte 1 PDFGeorge SenaAinda não há avaliações
- O Que e Uma Equipe InterdisciplinarDocumento8 páginasO Que e Uma Equipe Interdisciplinargalsouza123Ainda não há avaliações
- Relatório de Semana Academica - 2023 V0Documento8 páginasRelatório de Semana Academica - 2023 V0CARPEGGIANI BRITOAinda não há avaliações
- IBNRDocumento32 páginasIBNRCarolina de OliveiraAinda não há avaliações
- Almeida, M. T. - Manutenção PreditivaDocumento5 páginasAlmeida, M. T. - Manutenção PreditivaMariane Chludzinski100% (2)
- Manual de Operacao e Manutencao Caldeiras AmdDocumento51 páginasManual de Operacao e Manutencao Caldeiras AmdS. Renato Grigorio FolladorAinda não há avaliações
- Catalogo JVN PDFDocumento170 páginasCatalogo JVN PDFGilberto JuniorAinda não há avaliações
- TRABALHO DO SENAI Corrigido 4.0Documento31 páginasTRABALHO DO SENAI Corrigido 4.0Carllos 027Ainda não há avaliações
- Abelhas e Desenvolvimento Rural No BrasilDocumento16 páginasAbelhas e Desenvolvimento Rural No BrasilJaqueline Figuerêdo RosaAinda não há avaliações
- 5147A Injetores de Oleo F4RDocumento9 páginas5147A Injetores de Oleo F4RAdrian AntonacciAinda não há avaliações
- Comunicado Técnico PequiDocumento27 páginasComunicado Técnico PequiPriscilla Narciso JustiAinda não há avaliações
- Lista de Medicamentos Similares Intercambiáveis PDFDocumento210 páginasLista de Medicamentos Similares Intercambiáveis PDFMatias CardosoAinda não há avaliações
- Slide Da ProvaDocumento11 páginasSlide Da ProvaLuciano Souza MendesAinda não há avaliações
- Sugestodeatividadeavaliativadematemtica 140420223323 Phpapp01Documento7 páginasSugestodeatividadeavaliativadematemtica 140420223323 Phpapp01Ronan Ferraz de Brito100% (1)
- 04 A Checklist Iso9001Documento10 páginas04 A Checklist Iso9001Marcel PiovesanAinda não há avaliações
- Classificação de Imagens LandsatDocumento9 páginasClassificação de Imagens LandsatHenrique Matheus CardosoAinda não há avaliações
- Demonstrativo Sintético - PDDE - 2017 CORRETODocumento1 páginaDemonstrativo Sintético - PDDE - 2017 CORRETOreapervanhellAinda não há avaliações
- Caderno de Jurisprudências - 2020Documento71 páginasCaderno de Jurisprudências - 2020Mateus Luiz ferreira LoesAinda não há avaliações
- TCERJ - Técnico - Prova de Conhecimentos BásicosDocumento4 páginasTCERJ - Técnico - Prova de Conhecimentos BásicosHeinner GuntherAinda não há avaliações
- Raciocínio Lógico e Análise de DadosDocumento20 páginasRaciocínio Lógico e Análise de Dadosfaker mitoAinda não há avaliações
- SentraDocumento1 páginaSentraGalileo ElétricaAinda não há avaliações
- 8 Ano - Uso Consciente de EnergiaDocumento16 páginas8 Ano - Uso Consciente de EnergiaTatiana Aparecida Andrade De AlmeidaAinda não há avaliações
- DL N.º 124 - 2006, de 28 de JunhoDocumento25 páginasDL N.º 124 - 2006, de 28 de Junhohernani ribeiroAinda não há avaliações
- 03Documento48 páginas03Helenilda GomesAinda não há avaliações