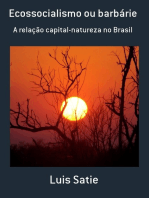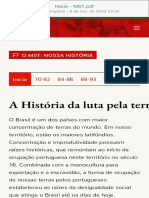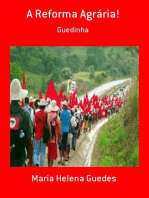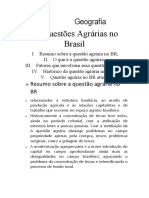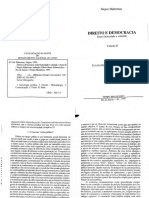Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ligia Osorio As Leis Agrarias e o Latifundio
Ligia Osorio As Leis Agrarias e o Latifundio
Enviado por
Felipe MaiaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ligia Osorio As Leis Agrarias e o Latifundio
Ligia Osorio As Leis Agrarias e o Latifundio
Enviado por
Felipe MaiaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AS LEIS AGRRIAS E O LATIFNDIO IMPRODUTIVO
AS LEIS AGRRIAS E O LATIFNDIO IMPRODUTIVO
LIGIA OSORIO SILVA Professora do Instituto de Economia da Unicamp
luta do movimento dos trabalhadores sem-terra (MST) tem levado atualizao do debate sobre reforma agrria e resgatado o rico e conturbado conjunto de esforos e movimentos que no passado visaram instituir uma melhor distribuio da terra e dos meios sociais para a sua explorao produtiva. Tem razes profundas no pensamento social brasileiro a idia de que a concentrao fundiria no Brasil, uma das mais altas do mundo, determina efeitos nocivos sobre toda a sociedade. Decorre desta constatao o grande interesse suscitado pelo tema da reforma agrria em diversos momentos da nossa histria, interesse reanimado na atualidade pelos fatos ocorridos recentemente no campo. Neste artigo, procurar-se- aprofundar a discusso sobre um dos pontos centrais da reforma da estrutura agrria brasileira que diz respeito ao problema das desapropriaes e do latifndio improdutivo. Desde a adoo do Estatuto da Terra, em 1964, ampliou-se o consenso em torno da noo de que fazer reforma agrria significa, antes de mais nada, redistribuir a propriedade da terra. A terra a ser redistribuda pode estar sob o domnio pblico (as chamadas terras devolutas), ou privado. Neste ltimo caso, antes de ser redistribuda segundo critrios estabelecidos pela legislao agrria pertinente, preciso que a terra passe formalmente ao domnio pblico, o que feito atravs da desapropriao para uso social, prevista em vrias Constituies. A desapropriao de terras particulares efetuada pelos poderes pblicos, ultimamente pressionados pelas ocupaes do MST, sem dvida o aspecto que mais celeuma tem provocado, pois atinge o direito de propriedade, princpio fundamental do Estado liberal moderno.
Historicamente, no cerne desse debate encontram-se o latifndio improdutivo e os meios disposio dos poderes pblicos para elimin-lo. A preocupao com a monopolizao estril da terra e as injustias sociais que acarreta esto presentes nos documentos oficiais e so uma constante nas anlises dedicadas ao estudo da legislao agrria dos diversos perodos da histria brasileira, desde a poca colonial at os nossos dias, por mais de 300 anos, portanto. Apesar de a alta concentrao da propriedade da terra no Brasil ser um dado histrico persistente desde os tempos coloniais e de a forma de apropriao no ter variado muito, o corpo de normas que regulamentam a apropriao foi alterado ao longo do tempo, sendo que diferentes estratgias tm sido propostas para tentar corrigir os rumos do processo em diversos momentos. O fracasso dessas estratgias no deve obscurecer o esforo despendido na sua elaborao, mas sim lanar luz sobre as dificuldades com as quais tero de se defrontar todos os interessados nas mudanas em curso. A desapropriao como meio de operar a transferncia de propriedade e combater o latifndio improdutivo foi introduzida na Constituio, num determinado momento da nossa histria, para possibilitar a interveno do poder pblico no processo de apropriao. Trata-se, portanto, de um instrumento de correo dos efeitos danosos do padro de apropriao, cujas origens encontram-se nos primrdios da nossa histria e cuja prtica est ainda profundamente arraigada na realidade do campo brasileiro. Se, por um lado, a discusso atual sobre as ocupaes de terras efetuadas pelo MST vem reanimando o debate sobre a reforma agrria, no qual a polmica sobre as desapropriaes ocupa um papel central, justificando o interesse crescente em torno dos antecedentes histricos desta
15
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 11(2) 1997
questo, por outro, ainda pouco claro para muitos o processo especfico pelo qual a apropriao territorial foi estabelecendo o monoplio da terra e moldando de forma perversa a nossa estrutura agrria. Portanto, para melhor situar o debate sobre a desapropriao, necessrio retomar, ainda que brevemente, as caractersticas bsicas do processo de apropriao territorial, paralelamente ao exame dos mecanismos postos disposio dos poderes pblicos, atravs de uma legislao especfica, para combater o latifndio improdutivo. Ao longo da histria da apropriao territorial, distinguem-se trs formas de propriedade da terra: a sesmaria ou forma concessionria; a propriedade plena introduzida pela Lei de 1850; e o conceito de funo social da terra introduzido na Constituio de 46 e aperfeioado, posteriormente, atravs da viabilizao da desapropriao para uso social. DA FORMA CONCESSIONRIA PROPRIEDADE PLENA O regime de concesso de sesmarias foi transplantado da metrpole para a colnia e consistia na doao gratuita de terras em abundncia a quem possusse os meios para cultiv-la. Na sua concepo original, a doao de sesmarias objetivava solucionar uma crise de abastecimento no reino portugus. A Amrica portuguesa esteve indissoluvelmente ligada produo do acar colonial que, como se sabe, visava a exportao para os mercados europeus. Mesmo sendo um regime que favorecia a constituio da grande propriedade, o sistema sesmarial teve uma preocupao acentuada com a utilizao produtiva da terra, expressa na clusula de condicionalidade da doao, atrelada ao cultivo da terra. Esta clusula dispunha que o sesmeiro (aquele que recebia a terra) tinha cinco anos para torn-la produtiva, devendo esta retornar ao senhor original (a coroa portuguesa) caso esta exigncia no fosse cumprida. Este o sentido original do termo terras devolutas terras concedidas e no aproveitadas que retornavam ao doador. Entretanto, no vocabulrio jurdico brasileiro este termo passou a ser usado como sinnimo de terra vaga, no apropriada, patrimnio pblico. Apesar da condicionalidade da doao, a metrpole, enquanto durou o regime de concesso de sesmarias, nunca conseguiu impedir a formao de grandes latifndios improdutivos. Alm daquela utilizada efetivamente de forma produtiva nas plantations, grandes extenses de terras eram apropriadas, ora para garantir exploraes futuras, caracterizando uma cultura migratria em grande escala, ora como reserva de valor. Este padro de ocupao explicava-se, em parte, pelo carter predatrio da agricultura praticada na colnia, baseada no traba-
lho escravo e na utilizao de tcnicas rudimentares, que esgotavam rapidamente o solo. Por outro lado, a incapacidade da metrpole em exercer um controle estrito sobre a colnia tornou possvel a manuteno deste padro. Em conseqncia, nenhum dos mecanismos colocados em vigor pelas autoridades coloniais fez reverter esse processo. Na realidade, o aumento das exigncias que cercavam a concesso de sesmarias (medio, demarcao, confirmao, etc.) s serviu para indispor os colonos com a administrao colonial e antes mesmo de declarada a Independncia j estava decretada a morte do sistema sesmarial (decreto do Prncipe Regente, de julho de 1822). Durante a poca colonial desenvolveu-se uma outra forma de apropriao que, aos poucos, obteve o reconhecimento das autoridades a posse , que era mais adaptada agricultura mvel, predatria e rudimentar praticada, tornando-se o meio principal de apropriao territorial. At hoje, sua importncia como forma de aquisio de domnio incontestvel. Nos primeiros sculos da colonizao, a posse representou tambm a forma de ocupao do pequeno lavrador sem condies de solicitar uma sesmaria (Lima, 1954). Esta prtica desenvolvera-se s margens dos grandes latifndios, em atividades de subsistncia ou fornecimento de gneros alimentcios para os engenhos. Sem deixar de existir nesta forma, entretanto, a posse tambm assumiu a feio de grandes latifndios. As mesmas condies que levaram falta de controle no tamanho das sesmarias fizeram com que o limite da posse fosse dado pelo prprio posseiro. Sesmarias so verdadeiros latifndios, dizia um autor do sculo XIX, mais extensas, porm, ainda so as posses de terras (Ribas, 1883). Em sntese, a abundncia relativa de terras e os objetivos da colonizao determinaram a forma de adaptao de uma legislao concebida para a metrpole para ser aplicada colnia e levaram ao estabelecimento de grandes unidades produtivas e grandes latifndios improdutivos na forma de posses ou sesmarias. Apesar da clusula explcita de cultivo fornecer administrao colonial os poderes de retomar as terras incultas apropriadas , a parte da legislao que coibia o latifndio improdutivo nunca foi aplicada. Embora tendo suas origens no sistema sesmarial, seria injustificado atribuir a ele a causa da persistncia do latifndio improdutivo em pocas posteriores. Ao findar aquele perodo, apenas uma parcela pequena do territrio nacional estava apropriada e restavam quantidades enormes de terras devolutas. A ausncia de uma legislao que normalizasse o acesso terra durante o tempo que decorreu da Independncia at 1850 e a continuidade do padro de explorao colonial (agricultura predatria e trabalho escravo) resultaram
16
AS LEIS AGRRIAS E O LATIFNDIO IMPRODUTIVO
no florescimento, sem qualquer controle, do apossamento e multiplicaram-se os latifndios improdutivos. Em meados do sculo XIX, o Estado imperial elaborou a primeira legislao agrria de longo alcance da nossa histria, que ficou conhecida como a Lei de Terras de 1850. Esta lei pretendeu impor os princpios da poltica de interveno governamental no processo de apropriao territorial, representando uma tentativa dos poderes pblicos (o Estado imperial) de retomarem o domnio sobre as terras chamadas devolutas, que estavam perdendo em funo da vertiginosa ocupao que se processava ento sob a iniciativa privada. Tem sido justamente destacado que a motivao principal da adoo da lei estava nos desdobramentos da cessao do trfico de escravos e no desejo de estimular a imigrao estrangeira (Carvalho, 1988; Dean,1971). A esses fatores preciso, no entanto, agregar a necessidade de proceder ao ordenamento jurdico da propriedade da terra, passo importante na consolidao do Estado imperial e indispensvel no combate s disputas de terras que se multiplicavam entre sesmeiros e posseiros (Silva,1996). Vista sob um prisma bastante geral, a Lei de 1850 desempenhou o importante papel de delimitar o espao de relacionamento entre o poder pblico e os proprietrios de terras, estabelecendo as normas pelas quais os sesmeiros em situao irregular e os posseiros transformar-se-iam em proprietrios de pleno direito das terras que ocupavam (Silva, 1996). A Lei de 1850 no atingiu um dos seus objetivos bsicos, que era a demarcao das terras devolutas, ou, como se dizia na poca, a discriminao das terras pblicas e privadas, primeiro obstculo a ser vencido na implementao de uma poltica de terras. Isto ocorreu principalmente por dois motivos: em primeiro lugar, a regulamentao da lei deixou a cargo dos ocupantes das terras a iniciativa do processo de delimitao e demarcao, sendo que somente depois que os particulares informassem ao Estado os limites das terras que ocupavam que este poderia deduzir o que lhe restara para promover a colonizao; em segundo, a lei no foi suficientemente clara na proibio da posse, pois, embora isto estivesse contido no artigo 1o , outros artigos levavam a supor que a cultura efetiva e a morada habitual garantiriam a permanncia de qualquer posseiro, em qualquer poca, nas terras ocupadas. A combinao desses dois elementos fez com que a lei servisse, no perodo da sua vigncia e at bem depois, para regularizar a posse e no para estanc-la. Os desdobramentos deste efeito da Lei de 1850 no seriam necessariamente negativos, caso no tivessem beneficiado quase exclusivamente os grandes proprietrios rurais e, ao contrrio, servissem para democratizar o acesso terra.
Com a Repblica e a passagem das terras devolutas para o domnio dos estados, agudizou-se ainda mais o efeito perverso da Lei de 1850, com o agravante de que foram pouqussimas as iniciativas no sentido do estabelecimento de uma poltica de colonizao ou assentamento que minimamente contrabalanasse a proliferao dos latifndios improdutivos. Protegidos pela aplicao perversa da clusula que garantia as posses (cultura efetiva e morada habitual), multiplicaram-se os grilos e as posses irregulares e continuou o processo de passagem das terras devolutas para o domnio privado, sem controle dos poderes pblicos e sem que estes manifestassem grande preocupao com o uso anti-social das terras apropriadas. A situao social imperante no campo, neste perodo, caracterizada pela presena do coronelismo, fenmeno amplamente analisado na bibliografia especializada, garantiu a permanncia do modelo altamente concentrado de apropriao territorial. O perodo da Primeira Repblica no se caracterizou apenas pela inexistncia de uma poltica de terras que no se limitasse observao passiva do processo de constituio da propriedade privada da terra custa do patrimnio pblico. Neste momento, desencadeou-se tambm uma polmica em torno do conceito de terras devolutas, que expressava a ofensiva de setores da sociedade para derrubar definitivamente a possibilidade de o Estado desenvolver projetos referentes s terras devolutas. A polmica de que foi objeto o conceito de terras devolutas deveu-se, em parte, ambigidade da sua definio. Seu sentido original remontava aos tempos longnquos do sistema sesmarial, significando a capacidade de recuperao das terras doadas quando no fossem cumpridas as clusulas expressas na concesso. Embora herdado da situao colonial e da definio ento em uso nas cartas de doao de sesmarias, o conceito de terras devolutas foi sendo continuamente atualizado, ganhando uma acepo mais prxima das novas situaes que se criavam medida que o Estado independente se afirmava. J Jos Bonifcio empregara o termo no sentido de terras que deveriam ser reincorporadas ao patrimnio da nao, por no estarem servindo ao uso social ao qual estavam destinadas, isto , produzir: que as terras que foram dadas por sesmarias e no se acharem cultivadas, entrem outra vez na massa dos bens nacionais, deixando-se somente aos donos das terras meia lgua quadrada, quando muito, com a condio de comearem logo a cultiv-las, em tempo determinado que parecer justo. Por trs da discusso terminolgica e jurdica estavam embutidas duas polmicas referentes ao papel do Estado diante dos ocupantes privados. De um lado, discutia-se a possibilidade de o Estado recuperar seu patrimnio caso os posseiros no cumprissem as determinaes da lei,
17
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 11(2) 1997
como, por exemplo, a obrigatoriedade da demarcao. Esta capacidade nunca foi, na prtica, reconhecida, pois a cultura efetiva e a morada habitual, aliadas a uma interpretao benvola da lei, garantiam a posse da terra aos posseiros rebeldes. Por outro lado, discutia-se tambm a possibilidade de o Estado salvaguardar seu patrimnio, defendendo-se de novos apossamentos, atravs da proibio do usucapio das terras pblicas. A promulgao do Cdigo Civil fez surgir uma corrente expressiva de juristas, que defendiam a possibilidade do usucapio das terras pblicas, o que significava, na prtica, a derrubada do artigo 1o da Lei de 1850, que continuava em vigor. Esta corrente propugnava a utilizao do termo devoluto como sinnimo de vago, ou seja, o Estado seria um proprietrio como outro qualquer diante das suas terras, sujeito, portanto, ao usucapio. A corrente contrria defendia a posio de que devoluto significava pblico e que o Estado no era um proprietrio como os outros, mas sim o guardio dos bens pblicos aos quais deveria dar uma destinao social. Em relao a essa matria, e a muitas outras, a lei era ambgua, e talvez no pudesse ser de outro modo, uma vez que tratava-se de operar a transio de um sistema concessionrio de doao de terras (sesmarias) para um sistema de propriedade plena (nos termos do uso e abuso do Direito Romano) (Silva, 1996). Como a Lei de 1850 foi servindo ao longo dos anos para regularizar a situao dos grandes posseiros latifundirios, transformando-os, portanto, em proprietrios de pleno direito, uma vez expedido um ttulo de propriedade, o Estado s poderia recuperar as terras improdutivas e dar-lhes outro destino atravs da desapropriao. A FUNO SOCIAL DA TERRA Com a Revoluo de 1930, chegou ao fim a vigncia da Lei de 1850, embora, na ausncia de outro instrumento normalizador, esta continuasse a servir de modelo para casos de pendncia entre o Estado e os particulares no que dizia respeito s terras devolutas. Foram promulgados alguns decretos-leis proibindo o usucapio nas terras pblicas, mas a prtica no foi nem de longe abolida. Ainda assim, comeou a se formar uma corrente de opinio preocupada com os desequilbrios sociais provocados pela estrutura fundiria.1 A necessidade de uma reestruturao agrria foi posta na ordem do dia pela faco tenentista integrante do arco de sustentao do governo provisrio. Foi graas aos membros desta faco que surgiu, pela primeira vez, uma proposta de alterao constitucional, condicionando o direito de propriedade ao conceito de funo social. Elaborado por uma Comisso especial designada pelo chefe
do governo provisrio, o Anteprojeto da Constituio de 1934 sofreu a influncia das novas tendncias do Direito de limitar o alcance de certos direitos (no caso, o uso e abuso) em nome do interesse social. O artigo 114 do Anteprojeto, garantidor da propriedade, vinha acompanhado por um pargrafo (1o) que a limitava: A propriedade tem, antes de tudo, uma funo social e no poder ser exercida contra o interesse coletivo. At ento, o direito de propriedade estava garantido na Constituio (a de 1824 e a de 1891) sem a restrio da funo social. A Constituio de 1824, no seu artigo 22, estipulava: garantido o direito de propriedade, em toda sua plenitude. A Constituio Republicana, mesmo reformada em 1926, mantivera o mesmo preceito. Em ambos os casos, era prevista a possibilidade da desapropriao em caso de utilidade pblica e estipulada a obrigatoriedade da indenizao prvia. Neste particular, o Anteprojeto do governo provisrio tambm inovava ao afirmar que a propriedade poder ser desapropriada, por utilidade pblica ou interesse social, mediante prvia e justa indenizao, paga em dinheiro, ou por outra forma estabelecida em lei especial aprovada por maioria absoluta dos membros da Assemblia. Assim como outros elementos do Anteprojeto, esta formulao foi derrotada na Assemblia Constituinte, sendo retiradas dele a expresso funo social e a possibilidade de outras formas de indenizao que no a do pagamento em dinheiro, ficando o artigo assim redigido: garantido o direito de propriedade, que no poder ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriao por necessidade ou utilidade pblica far-se- nos termos da lei, mediante prvia e justa indenizao. bvio que a questo da definio do direito de propriedade atingia diretamente a possibilidade de o Estado agir em relao ao latifndio improdutivo, tendo em vista que a desapropriao era o nico recurso que restava para a alterao da estrutura fundiria, distorcida pela contnua ocupao desregrada das terras pblicas. Entretanto, a Assemblia Constituinte de 1934 acatou uma verso atenuada da proposta mais reformista do Anteprojeto. A Constituio decretada pelo Estado Novo alterou apenas a redao do artigo que assegurava a propriedade (artigo 122, pargrafo 14). Durante o Estado Novo, ao invs de iniciar um programa de reforma agrria, Vargas favoreceu a implantao de projetos de colonizao que visavam a disseminao da pequena propriedade, atravs da destinao de terras pblicas na Amaznia e no oeste para este fim. Foi a chamada marcha para oeste, que tinha como objetivo manifesto a ocupao dos grandes espaos vazios do norte e do centro-oeste, ocupao que
18
AS LEIS AGRRIAS E O LATIFNDIO IMPRODUTIVO
a ideologia oficial justificava como sendo necessria para dar continuidade ao processo de desbravamento do interior iniciado pelos bandeirantes e ao processo de integrao econmica ainda dbil. Na realidade, a regio dos espaos vazios (o oeste) no se encontrava to vazia assim. Estava ocupada por usinas de acar, plantaes de mate, fazendas de gado, regies de garimpo de ouro e diamante, explorao da borracha ou de drogas do serto, etc., o que refora a idia de que a ocupao de terras devolutas continuava a ocorrer ali desenfreadamente, apesar dos inmeros decretos reiteradamente proibindo o usucapio nas terras pblicas (decretos de 1932, de 1938, de 1939 e de 1946). Com a redemocratizao ocorrida no final da Segunda Guerra Mundial, nova oportunidade surgiu para a sociedade brasileira redefinir os rumos da apropriao territorial e novamente os constituintes eludiram a questo. Na realidade, mais que isso, os termos aprovados constituram um empecilho durante todo o perodo subseqente s foras sociais que batalhavam ardorosamente pela alterao da estrutura agrria e pelo combate ao latifndio improdutivo, pois a Constituio de 1946 definiu no artigo 141, pargrafo 16, que: garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriao por necessidade ou utilidade pblica, ou por interesse social, mediante prvia e justa indenizao em dinheiro. A indenizao prvia e em dinheiro inviabilizava as desapropriaes. No entanto, a viso que estava por trs do conceito de funo social da propriedade no desapareceu completamente, pois o artigo 145, ao falar da ordem econmica e social dizia: A ordem econmica deve ser organizada conforme os princpios da justia social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorizao do trabalho humano. E no artigo 147 dispunha que: O uso da propriedade ser condicionado ao bem-estar social. A lei poder, com observncia do disposto no artigo 141 pargrafo 16, promover a justa distribuio da propriedade, com igual oportunidade para todos. Na luta que se travou a seguir pela viabilizao da desapropriao dos latifndios improdutivos, estas clusulas foram freqentemente referidas como provas da constitucionalidade da reforma agrria. O carter dbio da Constituio de 46, no que se refere questo da funo social da propriedade e viabilidade das desapropriaes, deveu-se naturalmente presena de tendncias contrrias e favorveis reforma agrria. A Constituio havia admitido duas categorias de desapropriao. A primeira, por utilidade e necessidade pblica, que correspondia ao tipo clssico, j preconizado pelas antigas Constituies. A segunda, por interesse social, que representava o conceito novo, inspirado na inteno de fazer reformas sociais. Este ltimo implicava superar o conceito de propriedade que admitia que o pro-
prietrio, ao ter direito de usar, de gozar e de dispor da coisa, tinha tambm o direito de no usar, de no gozar e de no dispor da propriedade. A grande mobilizao social em torno das reformas de base, no perodo 1950-60, deu novo impulso discusso do latifndio. A reforma agrria, vista como um processo social amplo, parte fundamental das transformaes estruturais que deveriam liquidar a dominao tradicional no campo, melhorar a distribuio de renda e dar novo impulso ao processo de industrializao atravs da ativao do mercado interno, dominou o cenrio e polarizou as discusses sobre a questo agrria. A nfase era dada ora na ampliao do mercado, ora na melhoria das condies de vida e de trabalho da populao rural (na verdade faces da mesma moeda). A luta pela reforma agrria reuniu uma parcela importante dos trabalhadores rurais do nordeste nas Ligas Camponesas e era parte do amplo processo de mobilizao popular pela transformao democrtica da sociedade brasileira. Do ponto de vista da legislao, a questo fundamental parecia ser a alterao da Constituio de 1946, no sentido de levantar o impedimento desapropriao representado pelo artigo que previa a indenizao prvia e em dinheiro dos proprietrios atingidos pela reforma agrria. No perodo decorrido entre a promulgao da Constituio de 46 e a adoo do Estatuto da Terra que implicou a sua emenda, pelo menos duas tentativas de alterao da legislao agrria precisam ser lembradas. Em 1953, o presidente Getlio Vargas encaminhou ao Congresso Nacional projeto-lei definindo os casos de desapropriao por interesse social e o que se entendia por imvel improdutivo. O projeto, compatvel com a Constituio de 46, propunha uma soluo inteiramente plausvel para o estabelecimento de uma poltica de reforma da situao da propriedade rural, mas sofreu todo tipo de oposio e acabou ficando engavetado no Senado por quase dez anos.2 Ao ser retomado o projeto, foi desfigurado de modo que a lei finalmente aprovada em 10/09/1962 era totalmente incua para fins de reforma agrria. Bem mais tarde, num outro contexto, informado pela mobilizao em torno das reformas de base, o presidente Joo Goulart enviou ao Congresso Nacional um Anteprojeto de Lei de reforma agrria que implicava a modificao do artigo 141, pargrafo 16, para tornar possvel a indenizao em ttulos da dvida pblica, ttulos especialmente emitidos para esse fim, resgatveis no prazo de 20 anos. O valor da indenizao dos imveis desapropriados por interesse social poderia corresponder, a critrio do expropriante: ao valor estipulado pelo proprietrio por ocasio de sua declarao de rendimentos para efeito do imposto de renda; ao valor da propriedade, para efeito da cobrana do imposto territorial; ou ao valor estabelecido
19
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 11(2) 1997
em avaliao judicial. O Anteprojeto vinha precedido de uma exposio de motivos que colocavam a reforma agrria como indispensvel continuidade do desenvolvimento e melhoria dos ndices de produtividade no campo, sendo enviado Cmara no dia 22 de maro de 1964, dias antes, portanto, do golpe militar que derrubou o governo democraticamente eleito. Enquanto internamente se discutia a necessidade de elaborao de uma lei agrria que alterasse a estrutura fundiria, externamente comeou a haver uma sensvel reordenao da poltica americana (EUA), no sentido de estimular os pases latino-americanos a promoverem reformas nas suas estruturas agrrias. Esta mudana de orientao era efeito, em parte, da Revoluo Cubana e do perigo de novas revolues no continente. Os analistas americanos chegaram concluso de que o perigo de novas revolues poderia ser evitado se os governantes latino-americanos se conscientizassem da necessidade de alterar a situao das massas camponesas, sendo que a reforma agrria era considerada o instrumento fundamental para atingir esse objetivo. Em setembro de 1960, numa conferncia realizada na Colmbia, tratou-se diretamente do problema da propriedade da terra e do desenvolvimento agrcola. A Ata de Bogot recomendou um programa especial para o desenvolvimento social que tivesse como finalidade a execuo de medidas para a melhoria das condies de vida no campo e do uso da terra. As medidas recomendadas foram fracas, resumiam-se principalmente na elaborao de estudos e acelerao de programas marginais como colonizao ou medidas fiscais. A carta de Punta del Este de 1961, fundamento da Aliana para o Progresso, foi mais expressiva. A carta demonstrava a preocupao com os efeitos das desigualdades econmicas, sociais e polticas sobre o progresso. Propunha em conseqncia uma efetiva transformao das estruturas injustas e dos sistemas de propriedade e uso da terra e falava em substituir o latifndio e o minifndio por um sistema eqitativo de propriedade da terra de modo que a terra seja de quem a trabalha: base de sua estabilidade econmica, fundamento de seu crescente bem-estar e garantia da sua liberdade e dignidade (Ttulo I, objetivo 6). A declarao de princpios recomendava que os pases integrantes da OEA (Organizao dos Estados Americanos) acelerassem seu desenvolvimento econmico e social, com o objetivo de conseguir aumento substancial e contnuo de suas rendas per capita e tambm promovessem, respeitadas suas peculiaridades, programas de reforma agrria integral tendentes efetiva transformao das estruturas. A Carta reconhecia explicitamente que a distribuio dos recursos e da renda era desigual na agricultura latino-americana; que a renda per capita e as taxas de cresci-
mento estavam a nveis muito baixos; que o desemprego era alto e que as relaes de trabalho eram deficientes. Admitia que a soluo para esses problemas exigia mudanas profundas e que a reforma agrria era o instrumento para efetivar essas mudanas no campo. Reconhecia, por outro lado, que o desenvolvimento era funo no apenas de mais inverses de capital, maior comrcio, maior produtividade, e de outras variveis exclusivamente econmicas, mas tambm de variveis polticas e culturais como a justia social, a liberdade dos homens que trabalham e a existncia de instituies democrticas. Finalmente, e no menos importante, embora a Carta no afirmasse claramente, estava implcito que o principal da ajuda financeira a ser carreada para esses pases s estaria disponvel se as reformas agrrias fossem executadas de acordo com os planos de desenvolvimento. Em 1962, ainda por recomendao da reunio de Punta del Este, foi organizado o Comit Interamericano para o Desenvolvimento Agrcola (Cida), formado por integrantes da FAO, Cepal, BID, OEA, e IIAS (Instituto Interamericano de Cincias Agrcolas). Entre 1965 e 1966, o Comit publicou sete informes com o ttulo geral de Condiciones de la tenencia agraria e dasarollo socioeconomico, um para cada pas (Argentina, Brasil, Chile, Colmbia, Equador, Guatemala e Peru). Os resultados gerais a que chegaram tais estudos levavam concluso de que, se a medida do progresso fosse a adoo de instituies que permitissem queles que obtm a sua subsistncia trabalhando para outros ou para si mesmos o acesso a melhores rendimentos e melhores condies de produo, ento os camponeses latino-americanos haviam progredido muito pouco ou quase nada, nos ltimos sculos. A CONTRA-REFORMA AGRRIA E O ESTATUTO DA TERRA Explicitados os condicionantes internos e externos que informavam a situao imperante no Brasil, no incio dos anos 60, compreende-se melhor que o Estatuto da Terra veio em resposta a duas ordens de fatores: de um lado, aos movimentos sociais do campo, principalmente do nordeste e grande mobilizao popular reformista dos anos 50 e 60, ambos processos estancados pelo golpe de maro de 1964; e, de outro, presso norte-americana pela adoo de um programa de reformas para o campo. Os militares procuraram dar uma resposta necessidade de modernizao rural dentro da lei e da ordem, desbaratando os movimentos camponeses organizados, o que foi feito, alis, com muito sucesso em todo o continente, nos anos 60 e 70. A ao militar e policial contra os trabalhadores rurais, seus lderes e suas organizaes ps
20
AS LEIS AGRRIAS E O LATIFNDIO IMPRODUTIVO
fim s presses da populao rural pela reforma. As Ligas Camponesas, uma das principais organizaes lutando pela reforma agrria, foram desintegradas e seus lderes assassinados, torturados, presos ou exilados. Nos anos que se seguiram ao golpe militar, s foi permitida a existncia de pequenas organizaes congregando produtores rurais, quase sem representatividade. Naturalmente, os grandes beneficirios dessa represso foram os latifundirios. Assim, o reconhecimento da necessidade de reformar a estrutura agrria pelos militares brasileiros precisou ser precedida do afastamento dos principais interessados do processo. Se examinarmos a questo numa perspectiva histrica, chegamos concluso de que a contra-reforma agrria ocorreu num momento em que os pases latino-americanos eram dirigidos direta ou indiretamente por militares, embora talvez no seja correto dar-lhes muito crdito por isso. Em dezembro de 1968, de 19 pases latino-americanos, dez estavam sob regime militar, quatro estavam sob a influncia dos militares e somente cinco tinham regimes civis (Feder, 1972). Entre maro de 1962 e junho de 1966, haviam sido depostos por golpes militares nove presidentes civis eleitos constitucionalmente. Um analista americano, Lieuwen, atribuiu, em parte, esta nova onda de militarismo Aliana para o Progresso, porque, segundo ele, na opinio de muitos lderes militares latinoamericanos, o apoio e a ajuda pblica do governo dos Estados Unidos aos programas de desenvolvimento material e mudana social, ocorrendo em regimes autenticamente democrticos, equivaleria a patrocinar a instabilidade poltica e a desintegrao social (Lieuwen, 1967). Porm, tambm verdade que os latifundirios de todos os pases do continente sempre dispuseram de inmeros meios de fazer fracassar a reforma agrria sem necessidade de recorrer fora militar dos seus respectivos pases. De todo modo, o fato que o primeiro governo militar ps-64 obteve sucesso onde vrios governos anteriores haviam fracassado e contornou o problema do pagamento em dinheiro estipulado pela Constituio de 46, atravs da Emenda Constitucional no 10, de 09/11/64, que substitua o pargrafo mencionado anteriormente pelo pagamento da prvia e justa indenizao em ttulos especiais da dvida pblica, com clusula de exata correo monetria, segundo ndices fixados pelo Conselho Nacional de Economia, resgatveis no prazo mximo de 20 anos, em parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua aceitao, a qualquer tempo, como meio de pagamento de at cinqenta por cento do Imposto Territorial Rural e como pagamento do preo de terras pblicas.3 Ao mesmo tempo, levou para a competncia da Unio a delimitao das zonas prioritrias para a incidncia da reforma, fixadas
por decreto do Poder Executivo, s recaindo sobre propriedades rurais caracterizadas como latifndio, conforme o definido na lei. O passo seguinte foi dado pela promulgao do Estatuto da Terra (Lei n 4.504, de 30/11/64). A ateno centrava-se novamente no destino a ser dado s terras devolutas, redirecionando-se a discusso tal qual ela comeara no Imprio e fora ligeiramente relanada na poca da marcha para o oeste no governo Vargas, sem grandes conseqncias. Isto , a viso da reforma agrria como parte das reformas de base foi abandonada em favor da elaborao de uma poltica de terras que desse um uso social s terras improdutivas. Alm de definir regionalmente o latifndio e o minifndio, o Estatuto da Terra definiu dois tipos de instrumentos para a realizao da reforma agrria: um curativo e outro preventivo. O instrumento curativo deveria eliminar o latifndio improdutivo atravs da desapropriao por interesse social e facilitar o acesso terra dos pequenos proprietrios, que o Ibra (Instituto Brasileiro da Reforma Agrria, organismo criado para esse fim) deveria assentar nessas terras. O instrumento preventivo era a tributao progressiva que funcionaria para impedir a reaglutinao dos latifndios divididos pela desapropriao. Reativava-se, para esse fim, o imposto territorial rural, que seria estabelecido pelos estados, destinando-se 80% da sua arrecadao aos municpios. Os recursos serviriam para financiar os programas de reforma ou desenvolvimento agrrio que contariam com receitas de outras origens (principalmente uma cota de 3% da receita anual da Unio). Percebe-se o quanto importante recuperar o contexto poltico das Amricas naquele momento, para compreender por que foi justamente um governo oriundo de um golpe militar que cerceou a liberdade de expresso e de organizao das foras sociais que lutavam pela reforma agrria, o primeiro da histria brasileira a aprovar uma lei agrria que colocava como um de seus objetivos maiores a redistribuio da propriedade da terra. Sem esse cuidado, tal fato assumiria talvez um carter paradoxal. Porm, tambm verdade que o carter distributivo da reforma foi progressivamente deixado de lado quando se comeou a definir e implementar as polticas de interveno. Assim, ainda no primeiro governo militar, as diretrizes definidas pelo Ministrio do Planejamento coordenado com o Ministrio da Agricultura eram: tributao progressiva; criao de tributos especiais para terras valorizadas por obras do governo; implantao de projetos de colonizao; assistncia tcnico-financeira. Houve, portanto, uma tendncia clara de diluio da reforma agrria, que para um crtico atuante (Silva,1971) consubstanciou-se na inverso das prioridades, sendo que a desapropriao por interesse social cedeu a primazia para
21
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 11(2) 1997
as atividades de zoneamento, cadastro e tributao, rompendo a prpria hierarquia da instrumentao reformista. Este desvirtuamento dos objetivos propostos pelo Estatuto da Terra provocou, num determinado momento, um descompasso entre o ministro do Interior, Costa Cavalcanti, e o presidente do Ibra, general Carlos de Morais. Enquanto o primeiro declarava que a reforma agrria (ia) manter a atual estrutura fundiria, pois a poltica do governo de realiz-la sem divises de terras, o segundo destacava a desapropriao por interesse social como o instrumento bsico para a consecuo da mesma (CNBB,1976). Deste modo, nos anos 70, enquanto no plano jurdico o governo brasileiro se encontrava munido de todos os instrumentos necessrios para iniciar a reforma agrria, na prtica no se avanava quase nada nesse sentido. Dado a ausncia de resultados concretos, devido ao caos em matria de projetos e ao vazio em torno da reforma agrria, optou-se pela soluo de sempre: foi criado um novo rgo. A fuso do Inda, Gera e Ibra formou o Incra, em 1970. No elenco de atividades atribudas ao Incra estava aquela, como sucessor do Ibra, de representao da Unio para promover a discriminao das terras devolutas federais, na forma estabelecida pelo Decreto-Lei no 9.760, com autoridade legal para reconhecer as posses legtimas exercitadas com cultura efetiva e morada habitual, bem como incorporar ao patrimnio da Unio as terras devolutas ilegalmente ocupadas e as no ocupadas (Zanata, 1978). Passados 128 anos da promulgao da lei de terras de 1850, tentava-se mais uma vez terminar o processo de discriminao das terras pblicas e privadas, processo ainda hoje no concludo. Outra inclinao evidente das diretrizes da reforma agrria, nesta poca, foi sua subordinao aos objetivos estratgicos dos governos militares de integrao da Amaznia, atravs da ocupao econmica e social dessa regio. Tanto assim, que foi determinado que a ao do novo rgo criado deveria concentrar-se na execuo de um programa de colonizao capaz de resolver os problemas do homem do campo do nordeste, atravs da colonizao dos vales midos do Brasil central e do Maranho, alm das manchas de terras de boa produtividade nos dois lados da Transamaznica. As vicissitudes pelas quais passaram os organismos criados e extintos (Inic, Supra, Inda, Ibra, Gera, Incra) e sua coleo de fracassos esto bem documentados e so relativamente bem conhecidos, no sendo o caso de reproduzi-los aqui. O avano representado no plano jurdico pela adoo da Emenda Constitucional no 10 e pelo Estatuto da Terra no se fez acompanhar da sua correspondente aplicao prtica,
o que no chega a surpreender, tendo em vista o arco de alianas que sustentava o regime militar, no qual ocupavam um papel destacado os latifundirios e seus aliados. Com a redemocratizao e a elaborao de uma nova Constituio em 1988, o princpio da funo social da propriedade rural do Estatuto de Terra foi levado para a nova Carta (artigos 184 e 186). Porm, tal expediente, ao invs de dinamizar o processo de reforma agrria que vinha se arrastando, constituiu-se em mais um bloqueio. Minuciosa e detalhista, absorvendo dispositivos inteiros da lei ordinria que j vigorava, at mesmo os de natureza processual, a nova Carta fez depender sua aplicao de regulamentao por lei complementar. Pelo Estatuto da Terra, o poder pblico desapropriava, garantia a posse e a nica coisa que se reclamava, depois, era o justo preo da indenizao; pela Constituio de 88, o expropriado podia questionar o ato at mesmo do presidente da Repblica. A demora na regulamentao e as imperfeies contidas na lei definidora do rito sumrio estancaram os assentamentos que j eram lentos. Ao vazio legal imposto pela nova Constituio, somaram-se os efeitos da crise econmica, ocasionando o aumento da tenso no campo brasileiro. Um aspecto de grande relevncia a ser definido pela nova lei era aquele referente ao conceito de propriedade produtiva. Esta , como se sabe, a que cumpre a sua funo social e, como tal, junto com as pequenas e mdias propriedades, insuscetvel de desapropriao para fins de reforma agrria. Trata-se de um conceito polmico e at hoje pouco claro, embora uma lei de 1993 (no 8.629 de 25/2) tenha tentado definir a produtividade dos imveis rurais. No artigo 6o so classificados produtivos os imveis que tenham grau de utilizao da rea aproveitvel igual ou superior a 80% e grau de eficincia na explorao da terra superior a 100%. Os ndices de eficincia nas atividades agropecurias so estabelecidos pelo governo. As reas consideradas produtivas pagam menos ITR que as improdutivas, mas sempre sobram formas de escapulir da definio legal. Para muitos observadores, a legislao atual mais favorvel aos latifundirios que o Estatuto da Terra, induzindo ao pagamento de indenizaes milionrias e emperrando o ritmo dos assentamentos por falta de recursos. 4 Esta situao tanto mais perversa quanto se sabe que o Estado est pagando para recuperar terras que lhe pertenciam e que foram prodigamente cedidas aos poderosos do campo por governos anteriores. Depois de tantos anos de legislao elaborada inclusive com a inteno de combater o latifndio improdutivo, atualmente existem perto de 140 milhes de hectares de terras improdutivas. O Brasil ocupa o segundo lugar em concentrao da propriedade fundiria e o primeiro em
22
AS LEIS AGRRIAS E O LATIFNDIO IMPRODUTIVO
desigualdade de renda no mundo. Segundo o Atlas Fundirio Brasileiro, as grandes propriedades (com mais de 1.000ha) somam 42 mil imveis, que detm juntos 165,7 milhes de ha (sete vezes a rea do Estado de So Paulo); sendo que, destes, 75 mil imveis possuem mais de 100 mil ha e juntos aambarcam 24 milhes de ha (11 vezes o Estado de Sergipe). O estudo, baseado em levantamentos feitos em 1940, 1966, 1978 e 1992, diz ainda que a concentrao de terras no pas permaneceu quase imutvel por 56 anos. O Atlas apenas confirma com nmeros o que dissemos com palavras, ou seja, no obstante uma legislao extensa e detalhista, o longo perodo de vigncia do Estatuto da Terra (j completou 30 anos) e sua alterao pela Constituio de 1988 no mudaram a estrutura fundiria brasileira. Recentemente, o governo editou uma Medida Provisria reformulando o Imposto Territorial Rural (ITR), elevando de 4,5% para 20% o imposto sobre as terras improdutivas (reas superiores a 5.000ha, com grau de aproveitamento de 20% ou inferior). Tambm estipula que o preo declarado pelo proprietrio servir de base para o clculo do ITR e da indenizao. O otimismo demonstrado por alguns analistas, que vem nesta providncia o primeiro passo para a reforma agrria, no encontra respaldo na histria pregressa do ITR. A idia de que o imposto territorial o meio privilegiado para as mudanas de que o campo carece pelo menos to antiga quanto a lei de terras (1850) e, neste particular, foi to ineficiente quanto ela. Ao longo do sculo XIX no foi possvel implementar nenhuma espcie de imposto territorial, apesar da necessidade do financiamento da imigrao (reivindicada pelos fazendeiros) e da escassez de recursos do Estado, que contava basicamente com apenas dois tipos de impostos: o de importao e o de exportao. Em comparao, durante o sculo XIX, o imposto sobre a terra foi a principal fonte de recursos do Estado americano constitua 80% da receita municipal, a esfera estatal que maior participao detinha da arrecadao nacional. Na Primeira Repblica, a previso da criao do ITR na Constituinte de 1891 tornou-se praticamente letra morta, pois sua arrecadao foi deixada a cargo dos estados e foi to ignorada quanto as terras devolutas deixadas sob seus cuidados e que passaram desordenadamente para o domnio privado. A partir da reforma fiscal de 1966, o ITR passou para a Unio e deveria financiar os diversos projetos de reforma agrria que desde a adoo do Estatuto da Terra esto tambm em pauta com muito pouco sucesso. Alm disso, a sonegao do ITR pelos grandes proprietrios fato conhecido e comum em toda a Amrica Latina. A incapacidade persistente do Estado brasileiro de transformar o imposto territorial rural num instrumento
de tributao progressiva e numa fonte importante de recursos, e no pela falta de uma legislao pertinente, demonstra o quanto difcil contrariar os interesses dos proprietrios de latifndios improdutivos. Mas o aspecto mais espantoso contido nesta argumentao a crena de que mecanismos fiscais possam ser o principal instrumento da reforma agrria, viso que representa um retrocesso em relao ao Estatuto da Terra e uma aposta cega nos poderes do mercado de democratizar recursos. O Estatuto da Terra previa a utilizao do imposto como meio de impedir o ressurgimento do latifndio improdutivo, mas no ousou elev-lo condio de meio privilegiado na transformao da estrutura agrria. As leis agrrias brasileiras so extensas e complexas. Os legisladores procuram contemplar todos os casos possveis, prever todas as possibilidades e circunscrever ao mximo a ao dos organismos encarregados da reforma. Isto resulta em textos muito complexos e de difcil aplicao, uma vez que multiplicam-se as interpretaes possveis. Muitas disposies so pouco claras, contraditrias ou inteis. Parece haver a inteno deliberada de, pelo detalhismo, emperrar o processo. Por outro lado, a novidade do momento atual a ao organizada e coordenada dos principais interessados na reforma agrria: os trabalhadores sem-terra. Continuamente alijados do processo, forados pela represso poltica ostensiva ou velada, sua participao tem obrigado uma ateno mais sria dos poderes pblicos em relao questo agrria. Pela primeira vez, os interessados diretos so os personagens principais da histria. Cresce o consenso de que a reforma agrria uma necessidade para o trabalhador tanto do campo como da cidade. Sintoma deste fato que os prefeitos costumam apoiar as ocupaes de terras efetuadas pelo MST nas suas regies. Os sculos de histria de legislao agrria mostram, para quem quer enxergar, que a democratizao do acesso terra no se far sem a presso e a colaborao dos principais interessados. A REFORMA AGRRIA NO PRESENTE natural que um processo de to longa durao na histria de um pas, quanto este que acabamos de sumariar, e que visa a modificao da estrutura agrria, baseando-se numa determinada compreenso dos efeitos da apropriao territorial sobre a sociedade, sofra de tempos em tempos uma reavaliao. justo que se pergunte at que ponto a reforma agrria faz sentido ainda hoje. Alguns analistas e o prprio governo tm respondido a esta questo pela negativa, afirmando que a reforma agrria tem escassa importncia econmica hoje e argumentando que as mudanas recentes no pas, ao desvalorizarem a terra, fragilizaram o
23
SO PAULO EM PERSPECTIVA, 11(2) 1997
latifndio, bastando, em conseqncia, que a nova poltica fiscal do governo comece a dar resultados. O fim dos latifndios improdutivos seria uma resultante natural, apenas uma questo de tempo. Na outra ponta deste raciocnio est uma viso da reforma agrria como poltica compensatria, assistencialista, para resgatar uma dvida histrica com o trabalhador do campo, etc. Na realidade, a reforma agrria tem um contedo econmico muito concreto para os trabalhadores rurais, cuja nica possibilidade de sobrevivncia digna est atrelada ao acesso terra. O padro fundirio marcado pela apropriao desenfreada de terras pblicas realizada por uma pequena parcela da populao rural, em condies histricas bem precisas, resultou, de um lado, na expanso da capacidade produtiva e da produtividade em algumas regies do pas e, de outro, na marginalizao da maioria da populao rural devido alta concentrao da propriedade da terra e do crdito agrcola. A reforma agrria uma opo no sentido de enveredar por um caminho diferente do trilhado at agora e talvez, nas atuais condies, a nica opo realmente eficaz de combate ao desemprego, o flagelo atual do capitalismo. A necessidade da reforma tambm persiste porque a existncia do latifndio continua a exercer efeitos perversos sobre a situao dos trabalhadores do campo, em geral. Os trabalhadores rurais, inclusive os pequenos produtores ou pequenos arrendatrios e suas famlias, recebem salrios e rendimentos menores que os de qualquer outro setor da sociedade. Os salrios dos trabalhadores rurais e os rendimentos dos pequenos produtores rurais conservam-se prximos do nvel de subsistncia. E os salrios dos trabalhadores rurais no seriam to baixos se os rendimentos dos pequenos produtores tambm no estivessem no nvel da subsistncia. Uma das funes principais do latifndio improdutivo manter os salrios dos trabalhadores rurais muito baixos, pois torna a terra no disponvel para uma massa crescente de trabalhadores rurais. A marginalizao de uma parcela importante da populao rural do acesso terra reduz muito o poder de barganha dos trabalhadores rurais, cujos direitos trabalhistas e nveis salariais esto aqum dos j insatisfatrios patamares conquistados pelos trabalhadores urbanos. Embora a elite proprietria procure prender seus trabalhadores empresa rural, no deseja at-los terra sobretudo no atravs dos direitos de posse que a legislao contempla. por isso que probe seus moradores de semear plantas permanentes ou conservar gado em nmero significativo; retm a propriedade das choas, embora o morador possa arcar com as despesas da construo (devido ao grau de simplicidade e pobreza); e freqentemente muda as famlias de lugar, provocando uma pequena migrao de tempos em tempos dentro da empresa.
Por outro lado, nada caracteriza melhor a estrutura autocrtica de uma agricultura latifundiria do que o reforo da autoridade dos proprietrios e seus agentes, os administradores, por meio de uma polcia privada em muitas fazendas e grandes plantaes. Estes intermedirios contribuem muito para os conflitos violentos entre trabalhadores e administradores, como os acontecimentos recentes tm demonstrado. A associao dos latifundirios com os representantes do poder local pelo Brasil afora manifesta-se claramente pela impunidade com a qual agem ao arrepio da lei nos confrontos nos quais esto envolvidos seus empregados (melhor dizendo, jagunos) e os trabalhadores rurais. Sua presena nas altas esferas burocrticas atestada pela ineficincia com a qual cobrado o ITR e na forma discutvel pela qual calculado o valor das indenizaes a serem pagas. Outra objeo freqentemente levantada pelos opositores da reforma agrria quanto questo da legalidade da desapropriao para uso social. O argumento, previsvel de resto, de que configura um atentado propriedade privada. Na realidade, a afirmao no aceitvel, porquanto o objetivo da desapropriao favorecer a criao de propriedades privadas familiares, ampliando este direito em benefcio dos trabalhadores e pequenos produtores rurais. As reformas s atingem as grandes propriedades rurais improdutivas porque so consideradas anti-sociais.5 Alm do mais, os direitos destes proprietrios encontram-se protegidos do prejuzo pelas clusulas compensatrias e reparatrias contidas nas legislaes agrrias. O tipo de compensao e o valor das indenizaes dependem do poder de barganha dos latifundirios a cada conjuntura. No caso brasileiro, como este poder sempre foi grande, a compensao introduzida na lei de desapropriao sempre resguardou de modo indiscutvel os interesses financeiros da elite agrria. Com isto protegeram-se os seus investimentos e reduziram-se as possibilidades de expropriaes em grande escala, j que os recursos financeiros do instituto da reforma agrria so sempre limitados. Por outro lado, no necessrio ser especialista em Marx para compreender o alcance das suas anlises sobre o carter contraditrio do papel da propriedade privada no capitalismo: se, de um lado, constitui-se em elemento fundamental do sistema, de outro, o prprio sistema no funciona a no ser atravs da expropriao contnua e macia da maioria da populao, pois, caso contrrio, no haveria trabalhadores para o capital. Portanto, uma reforma agrria, em funo do seu carter de redistribuidora do meio de produo fundamental que a terra, inquieta os capitalistas ao retirar mo-de-obra abundante e barata do mercado. Um terceiro aspecto que merece ser rediscutido refere-se ao conceito de funo social da terra. Deve-se ob-
24
AS LEIS AGRRIAS E O LATIFNDIO IMPRODUTIVO
servar que a maioria das leis de reforma agrria especificam que a terra no cumpre a sua funo social se no usada, ou se usada inadequadamente, e depois so estabelecidas as prioridades para a expropriao de acordo com a intensidade do uso da terra. Entretanto, no existem disposies equivalentes quando as leis se referem concentrao da propriedade ou explorao dos trabalhadores ou pequenos produtores rurais. Se as leis fossem congruentes e a referncia s desigualdades sociais no fosse apenas verbal, seriam estabelecidas prioridades tambm para a expropriao de acordo com o grau de monopolizao da terra ou de explorao da mo-de-obra (Feder, 1972). Pode-se concluir que o conceito de funo social da terra, embora tenha sido introduzido para facilitar as expropriaes em grande escala dos latifndios improdutivos, serviu na realidade para distrair a ateno das injustias inerentes a uma distribuio muito desigual dos recursos agrrios, colocando a nfase nos usos da terra, o que resulta menos comprometedor. Os aspectos levantados aqui levam a acreditar que seria um grave erro subestimar as foras ainda existentes na sociedade brasileira contrrias reforma agrria, que so todos aqueles que se beneficiam dos baixos salrios no campo e que tm algo a perder com a desconcentrao da propriedade da terra. Em termos quantitativos podem no ser muitos, mas em termos de poder econmico e poltico no so menos temveis que seus correspondentes no passado. Continua vlida a advertncia feita, nos anos 60, por Lima (1961): o que a histria diz que a modificao das relaes econmicas e jurdicas, entre proprietrios e os que trabalham a terra, tem sido penosa. modificao que recoloca, redistribui interesses e, em geral, em detrimento dos possuidores de terras. Resta saber se a maioria da sociedade brasileira vai conseguir se unir em torno das justas reivindicaes do MST e realizar a to esperada reforma.
NOTAS
1. A necessidade de reformar a estrutura agrria j fora sentida no Imprio por figuras como Jos Bonifcio, Tavares Bastos, Joaquim Nabuco e Andr Rebouas. Suas idias no obtiveram, no entanto, o apoio de seus contemporneos. Na dcada de 20, o Partido Comunista Brasileiro colocou a reforma agrria como uma das prioridades mximas da vida nacional, tambm sem sucesso. Neste perodo, a Coluna Prestes exerceu um papel importante na divulgao crtica da situao social imperante no campo e na necessidade de alter-la. A anlise dessas contribuies ao debate sobre a reforma agrria foge ao escopo deste trabalho, uma vez que o interesse aqui limitou-se s leis agrrias propostas ou aprovadas. 2. interessante notar que, no Imprio, o primeiro projeto de lei de terras tambm ficou sete anos engavetado no Senado, na vigncia de gabinetes liberais. 3. Posteriormente, o Ato Institucional n 9 de 15/05/1969 retirou a palavra prvia do artigo constitucional. Alm disso, o AI-9 introduziu um novo rito que permitia a efetivao da desapropriao por interesse social num prazo de 72 horas, nas reas tidas como prioritrias para a reforma agrria. As reas prioritrias foram definidas por um grupo interministerial de trabalho. 4. Por exemplo, a legislao permite a incluso de pastagens e matas naturais como benfeitorias, facultando aos latifundirios uma indenizao muito superior ao valor declarado da terra para cobrana de impostos. 5. As reformas agrrias s vo contra a propriedade privada quando nacionalizam a terra. Porm, poucos pases optaram por essa soluo, sendo mais comum a forma de propriedade mista.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CARVALHO, J.M. Teatro de sombras: a poltica imperial. Rio de Janeiro, Ed. Vrtice/Iuperj, 1988. CNBB. Pastoral da Terra: posse e conflito. So Paulo, ed. Paulinas, 1976. DEAN,W. "Latifundia and land policy in nineteenth century Brazil". Hispanic American Historical Review , v.51, n.4, september 1971. FEDER,E. Violncia y despojo del campesino: el latifundismo en Amrica Latina. Mxico/Madrid/Buenos Aires, Siglo Veinteuno ed.1972. LIEUWEN E. The Latin American Military. Subcommittee on American Republic Affairs Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, 90th Congress,1 session, october 1967. LIMA, H. Palestra pronunciada no Conselho Tcnico da Confederao Nacional do comrcio. Carta Mensal, junho, 1961. LIMA, R.C. Pequena histria territorial do Brasil. Sesmarias e terras devolutas. 2ed. Porto Alegre, Ed. Sulina,1954. RIBAS, A.J. Da posse e das aes possessrias . Rio de Janeiro, Ed. Laemmert, 1983. SILVA, J.G. de. Reforma agrria no Brasil: frustrao camponesa ou instrumento de desenvolvimento . Rio de Janeiro, Zahar, 1971. SILVA, L.O. Terras devolutas e latifndio. Efeitos da lei de 1850 . Campinas, Ed. da Unicamp, 1996. ZANATA, O. Situao atual da ocupao das terras pblicas. Encontros da UNB. Braslia, Ed. da Universidade de Braslia, 1978.
25
Você também pode gostar
- José de Souza Martins. A Questão Agrária Brasileira.Documento34 páginasJosé de Souza Martins. A Questão Agrária Brasileira.cirlene_ba100% (1)
- Resumos de História - Módulo 2 - Do Antigo Regime À Afirmação Do LiberalismoDocumento12 páginasResumos de História - Módulo 2 - Do Antigo Regime À Afirmação Do LiberalismoLuísa Rodrigues100% (1)
- As Leis Agrárias e o Latifúndio ImprodutivoDocumento11 páginasAs Leis Agrárias e o Latifúndio ImprodutivoLucas M. GuideAinda não há avaliações
- L Osório Silva - Leis Agrárias e Latifundio ImprodutivoDocumento11 páginasL Osório Silva - Leis Agrárias e Latifundio Improdutivoademir.terraAinda não há avaliações
- Aula 4 - GeografiaDocumento7 páginasAula 4 - GeografiaNevanAinda não há avaliações
- Desigualdade de Gênero e Trabalho Na Agricultura Familiar Entraves e PossibilidadesDocumento17 páginasDesigualdade de Gênero e Trabalho Na Agricultura Familiar Entraves e Possibilidadesvvictor.hugo.gynAinda não há avaliações
- A Reforma Agrária, A Luta Pela Terra e Os Assentamentos RuraisDocumento15 páginasA Reforma Agrária, A Luta Pela Terra e Os Assentamentos RuraisvictorgabrielldebessaAinda não há avaliações
- Políticas de Terras e FronteiraDocumento15 páginasPolíticas de Terras e FronteiraGraciela GarciaAinda não há avaliações
- 7 - História Da Política Habitacional BrasileiraDocumento18 páginas7 - História Da Política Habitacional BrasileiraEdionei Maico FriesAinda não há avaliações
- Concentração de Terras No BrasilDocumento23 páginasConcentração de Terras No BrasilAllane SantosAinda não há avaliações
- Reforma Agrária No Brasil TEXTODocumento6 páginasReforma Agrária No Brasil TEXTOMadson QueirozAinda não há avaliações
- A Cidade para Poucos-Breve Historia Da Propriedade Urbana No Brasil JOAO WHITAKERDocumento20 páginasA Cidade para Poucos-Breve Historia Da Propriedade Urbana No Brasil JOAO WHITAKERMiguel SkackauskasAinda não há avaliações
- ESTRUTURA FUNDIÁRIA Ze Luispara PDFDocumento23 páginasESTRUTURA FUNDIÁRIA Ze Luispara PDFRamon Alves MaltaAinda não há avaliações
- História Do Uso Da Terra No BrasilDocumento6 páginasHistória Do Uso Da Terra No Brasilpaulo gutemberg vasconcellosAinda não há avaliações
- Reforma Agraria 3 Ano SimuladoDocumento14 páginasReforma Agraria 3 Ano SimuladoLuziane SantosAinda não há avaliações
- Material N 7 - Texto Lei de Terras 1850 - 221003 - 120232Documento8 páginasMaterial N 7 - Texto Lei de Terras 1850 - 221003 - 120232Tainá RosaAinda não há avaliações
- CAVALCANTE, José Luiz. A Lei de Terras de 1850 e A Reafirmação Do Poder Básico Do Estado Sobre A TerraDocumento7 páginasCAVALCANTE, José Luiz. A Lei de Terras de 1850 e A Reafirmação Do Poder Básico Do Estado Sobre A TerraNilton CarlosAinda não há avaliações
- ENTRE O PATRIMONIALISMO CIVILISTA E A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA (Sem Autoria)Documento17 páginasENTRE O PATRIMONIALISMO CIVILISTA E A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA (Sem Autoria)vvictor.hugo.gynAinda não há avaliações
- A Posse de TerraDocumento10 páginasA Posse de TerraCamila De Fatima TavaresAinda não há avaliações
- GARCIA, Graciela. O DOMÍNIO DA TERRA: CONFLITOS E ESTRUTURA AGRÁRIA NA CAMPANHA RIO-GRANDENSE OITOCENTISTAflavDocumento6 páginasGARCIA, Graciela. O DOMÍNIO DA TERRA: CONFLITOS E ESTRUTURA AGRÁRIA NA CAMPANHA RIO-GRANDENSE OITOCENTISTAflavGraciela GarciaAinda não há avaliações
- A Manuntenção Do Controle Sociopolítico Do Território Goiano Através Do Sistema CoronelistaDocumento10 páginasA Manuntenção Do Controle Sociopolítico Do Território Goiano Através Do Sistema CoronelistaChris MonteiroAinda não há avaliações
- Vicente - DIREITO A TERRA E AO TERRITÓRIO EM MOÇAMBIQUEDocumento13 páginasVicente - DIREITO A TERRA E AO TERRITÓRIO EM MOÇAMBIQUEHilton MaelaAinda não há avaliações
- Política Agrária No BrasilDocumento8 páginasPolítica Agrária No BrasilAnnaAinda não há avaliações
- Concentração FundiáriaDocumento3 páginasConcentração FundiáriaCamilla VitoriaAinda não há avaliações
- 3 Ano SOCIO Concentração de TerraDocumento2 páginas3 Ano SOCIO Concentração de Terrasilvadan704Ainda não há avaliações
- A Estrutura Fundiária BrasileiraDocumento13 páginasA Estrutura Fundiária Brasileiraradocs2Ainda não há avaliações
- Texto Do Livro Do Engels-HistoriaDocumento8 páginasTexto Do Livro Do Engels-HistoriaLaura Teixeira BorgesAinda não há avaliações
- Evolução e Histórico Do Direito AgrárioDocumento18 páginasEvolução e Histórico Do Direito AgrárioSara Hellen100% (2)
- Processo Histórico Da Questão Agraria No BrasilDocumento6 páginasProcesso Histórico Da Questão Agraria No BrasilLarissa BianchiAinda não há avaliações
- ESTRUTURA FUNDIÁRIA Ze Luispara PDFDocumento23 páginasESTRUTURA FUNDIÁRIA Ze Luispara PDFpradofariaAinda não há avaliações
- Tese Marivania Leonor Souza Furtado 100Documento50 páginasTese Marivania Leonor Souza Furtado 100Jéssica CarvalhoAinda não há avaliações
- Resenha FinalDocumento5 páginasResenha FinalFernanda SantosAinda não há avaliações
- Anpuh S23 0317Documento8 páginasAnpuh S23 0317Marcelo GóesAinda não há avaliações
- Movimentos SociaisDocumento37 páginasMovimentos SociaisIFÁC EDUCACIONALAinda não há avaliações
- MST e A Conquista Da Terra em Ipameri - GO Assentamento Olga BenárioDocumento9 páginasMST e A Conquista Da Terra em Ipameri - GO Assentamento Olga BenárioPesquisaUEGAinda não há avaliações
- REFORMA AGRÁRIA (Paulo Martinez)Documento102 páginasREFORMA AGRÁRIA (Paulo Martinez)Henrique BragaAinda não há avaliações
- A Reforma Agrária No BrasilDocumento5 páginasA Reforma Agrária No BrasilnicoleAinda não há avaliações
- Sociologia AgráriaDocumento30 páginasSociologia AgráriaBernardo Maranhão100% (1)
- PROJETO Cláudio Maia MestradoDocumento14 páginasPROJETO Cláudio Maia MestradoJoanito Lucas AlbertoAinda não há avaliações
- PDF Da Aula 04 DIREITO APLICADO AO AGRONEGOCIODocumento28 páginasPDF Da Aula 04 DIREITO APLICADO AO AGRONEGOCIOGEOAinda não há avaliações
- A História Da Luta Pela TerraDocumento8 páginasA História Da Luta Pela TerraFernando PazAinda não há avaliações
- Cap 18 Conflitos No CampoDocumento31 páginasCap 18 Conflitos No Camponichfn77Ainda não há avaliações
- 2 - Por Que Ha LutaDocumento4 páginas2 - Por Que Ha LutaDouglas WeegeAinda não há avaliações
- Alterações da política agrária: um debate hermenêutico da reforma agráriaNo EverandAlterações da política agrária: um debate hermenêutico da reforma agráriaAinda não há avaliações
- Retomada de Terras PúblicasDocumento8 páginasRetomada de Terras PúblicasleonardoAinda não há avaliações
- Resumo de Geo - Sofia 2º EMDocumento3 páginasResumo de Geo - Sofia 2º EMsosoAinda não há avaliações
- Atividade Direito Do AgronegócioDocumento2 páginasAtividade Direito Do AgronegócioJanainna ValeriaAinda não há avaliações
- Conflitos No Espaço AgrárioDocumento8 páginasConflitos No Espaço AgrárioVinícius Roppe PortellaAinda não há avaliações
- Direito Agrário - Aula 1Documento50 páginasDireito Agrário - Aula 1Jéssica PaulinoAinda não há avaliações
- SociologiaDocumento6 páginasSociologiaTata LynsAinda não há avaliações
- A Questão Agraria No Brasil - Sergio Sauer Lê Texto PDFDocumento13 páginasA Questão Agraria No Brasil - Sergio Sauer Lê Texto PDFhelloisaAinda não há avaliações
- Histria Do Dir Propriedade No BrasilDocumento23 páginasHistria Do Dir Propriedade No BrasilNemoAinda não há avaliações
- Trabalho Final Classes 3Documento5 páginasTrabalho Final Classes 3YURI CARVALHO MACHADOAinda não há avaliações
- GeografiaDocumento6 páginasGeografiaDoriane PereiraAinda não há avaliações
- História Das Lutas e Dos Movimentos Sociais Do CampoDocumento8 páginasHistória Das Lutas e Dos Movimentos Sociais Do CampoiclindolphosilvaAinda não há avaliações
- Direito Agrário 05 - Política Agrária e Reforma AgráriaDocumento11 páginasDireito Agrário 05 - Política Agrária e Reforma AgráriaFabiano Marcio100% (3)
- Artigo Politicas AgráriasDocumento16 páginasArtigo Politicas AgráriasEmmanuel Reinan Santana PinheiroAinda não há avaliações
- Questões AgrarioDocumento6 páginasQuestões AgrarioKel AlmeidaAinda não há avaliações
- A Celeuma Jurídica Da Reforma Agrária e Da RegularizaçãoDocumento7 páginasA Celeuma Jurídica Da Reforma Agrária e Da RegularizaçãoMarianne CamargoAinda não há avaliações
- Sociologia GeralDocumento5 páginasSociologia GeralDiih RochaAinda não há avaliações
- O Elogio Do CapitalismoDocumento1 páginaO Elogio Do CapitalismoMatheus PazAinda não há avaliações
- O Que É o ProtocoloDocumento3 páginasO Que É o ProtocoloMargarida FerreiraAinda não há avaliações
- DARNTON, Robert. O Processo Do Lluminismo Os Dentes Falsos de George Washington PDFDocumento24 páginasDARNTON, Robert. O Processo Do Lluminismo Os Dentes Falsos de George Washington PDFRoarrrrAinda não há avaliações
- Porque Os Jovens Profissionais Da Geração Y Estão InfelizesDocumento12 páginasPorque Os Jovens Profissionais Da Geração Y Estão InfelizesrdcaselliAinda não há avaliações
- (Adi 4.451Documento163 páginas(Adi 4.451Paulo Neto Paulo NetoAinda não há avaliações
- Oliveira Lima - O Império BrasileiroDocumento6 páginasOliveira Lima - O Império BrasileiroRenata MoraisAinda não há avaliações
- Bimestral 3 SérieDocumento3 páginasBimestral 3 SérieDouglas WeegeAinda não há avaliações
- 6 - Habermas, Jürgen - Direito e Democracia Entre Facticidade e Validade Vol 2Documento16 páginas6 - Habermas, Jürgen - Direito e Democracia Entre Facticidade e Validade Vol 2Ana Cláudia MeiraAinda não há avaliações
- Tcu Ata 0 N 2016 5 PDFDocumento725 páginasTcu Ata 0 N 2016 5 PDFMarceloVardanegaAinda não há avaliações
- Texto História (As Muralhas..) PDFDocumento12 páginasTexto História (As Muralhas..) PDFPaula SaldanhaAinda não há avaliações
- Revista Expressão UFSM - 2014Documento212 páginasRevista Expressão UFSM - 2014Camila Marchesan CargneluttiAinda não há avaliações
- VNF - Boletim Cultural 2Documento337 páginasVNF - Boletim Cultural 2n100% (1)
- Concordância NominalDocumento8 páginasConcordância NominalCarlos100% (1)
- Dossie Clubembl 08.04.23Documento26 páginasDossie Clubembl 08.04.23Olin BrandaoAinda não há avaliações
- M A Obra de Fronteiras e A Construcao Do Estado e Da NacaoDocumento31 páginasM A Obra de Fronteiras e A Construcao Do Estado e Da NacaoJosé Fernandes da SilvaAinda não há avaliações
- Declaração Islâmica Universal Dos Direitos HumanosDocumento12 páginasDeclaração Islâmica Universal Dos Direitos HumanosvicodenisAinda não há avaliações
- Discurso Martin Luther KingDocumento3 páginasDiscurso Martin Luther KingAna MartinsAinda não há avaliações
- Sobre o Enrijecimento Da Hierarquia SocialDocumento3 páginasSobre o Enrijecimento Da Hierarquia Sociallázaro_rufino_1100% (1)
- BROWN, Wendy. Nas Ruínas Do Neoliberalismo. São Paulo, Politeia, 2019Documento34 páginasBROWN, Wendy. Nas Ruínas Do Neoliberalismo. São Paulo, Politeia, 2019Pedro Santos CardosoAinda não há avaliações
- Curso de Hipnose - Luiz Henrique PDFDocumento71 páginasCurso de Hipnose - Luiz Henrique PDFedgar2303Ainda não há avaliações
- Historia 2014Documento4 páginasHistoria 2014Teofilo EdgarAinda não há avaliações
- Rematrícula - Uninove PDFDocumento1 páginaRematrícula - Uninove PDFLiria NagilaAinda não há avaliações
- 12 Aula - BricsDocumento18 páginas12 Aula - BricsAbraão BrazAinda não há avaliações
- Camara de Petrolina-Assistente Legislativo PDFDocumento378 páginasCamara de Petrolina-Assistente Legislativo PDFGessica AparecidaAinda não há avaliações
- Modelo - Escalade Revezamento Detrabalho - J3Documento2 páginasModelo - Escalade Revezamento Detrabalho - J3joao pedroAinda não há avaliações
- O Modelo Chileno - Fabiana Fredrigo.Documento7 páginasO Modelo Chileno - Fabiana Fredrigo.ivivacquaAinda não há avaliações
- Da Miseria No Meio EstudantilDocumento17 páginasDa Miseria No Meio EstudantilpulcrabellaAinda não há avaliações
- Lista-Candidatos-Deputado Estadual-PARANÁ-2022Documento2 páginasLista-Candidatos-Deputado Estadual-PARANÁ-2022GABRIEL VICENTE DA CRUZAinda não há avaliações