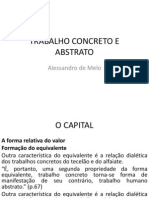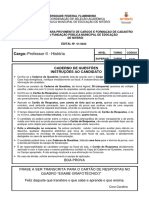Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Texto Sobre o Pensamento de Smith
Texto Sobre o Pensamento de Smith
Enviado por
Jamerson AnunciaçãoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Texto Sobre o Pensamento de Smith
Texto Sobre o Pensamento de Smith
Enviado por
Jamerson AnunciaçãoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
5
A filosofia social de Adam Smith
Antnio Jos Avels Nunes
RESUMO: A partir da teoria do valor-trabalho, Adam Smith
constri uma teoria da distribuio dos rendimentos que
pressupe uma certa estrutura de classes da sociedade e um
estudo "institudo com vista defesa dos ricos em prejuzo
dos pobres". Defensor do liberalismo, entende, porm, que o
contrato de trabalho no um contrato como os outros ,
porque as duas partes no so, de modo algum, iguais: uma
tende a trabalhar para viver; a outra pode viver sem
trabalhar. Diante das desigualdades que reconhece, defende
que o Estado no deve intervir, confiando na "mo invisvel"
do mercado e na virtude das leis naturais que regem a
economia.
Palavras-chave: Teoria do valor-trabalho. Estado mnimo.
1 - O pensamento de Adam Smith no domnio da Economia estrutura-se,
basicamente, a partir da crtica s teses fisiocrticas segundo as quais a
produtividade natural da terra um dom da natureza, dom que s pode ser
aproveitado pelos que trabalham na agricultura, o que significa que s o
trabalho agrcola se configura, por isso mesmo, como trabalho produtivo (i.,
capaz de produzir um produto lquido).
Era claramente diferente da realidade econmica e social da Frana do
tempo dos fisiocratas aquela que caracterizava a Inglaterra do tempo de Adam
Smith. E este conseguiu aperceber-se de algumas diferenas fundamentais: por
um lado, no que toca agricultura, deu-se conta de que os rendeiros
(capitalistas) arrecadavam um rendimento que no era um salrio; por outro
lado, conseguiu conseguiu compreender que este lucro capitalista no se
confinava agricultura: o lucro surgia agora de forma clara na indstria,
actividade em que o capital vinha encontrando o seu mais amplo campo de
aplicao.
Professor Catedrtico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Vice-Reitor da
Universidade de Coimbra
5
6
O poder produtivo do trabalho (a produtividade) deixava de estar
ligada s caractersticas estruturais da terra, deixava de ser exclusiva da
agricultura. Por isso, a explicao do excedente (i., do produto lquido, do qual sai
no s a renda mas tambm o lucro, tanto o lucro agrcola como o lucro
industrial) no pode continuar a assentar nas condies especficas de que
beneficia um determinado tipo de trabalho concreto (o trabalho agrcola).
Adam Smith foi alm das vrias formas de trabalho concreto que se
encontram na vida real, e elaborou uma nova categoria, a de trabalho abstracto, a
qual como ele prprio reconhece , embora possa tornar-se
suficientemente inteligvel, no de modo algum to natural e bvia.
1
Esta foi
uma novidade terica particularmente importante. Marx considera-a o ponto
de partida da economia moderna:
Um imenso progresso foi realizado quando Adam Smith rejeitou todas
as formas particulares de actividade criadora de riqueza [...], para
considerar apenas o trabalho sem mais, isto , todas as actividades sem
qualquer distino. A esta universalidade da actividade criadora de
riqueza corresponde a universalidade do objecto, o produto sem mais, e
tambm o trabalho em geral, embora ele seja concebido sob a forma de
trabalho passado e objectivado.
2
luz dos ensinamentos de Smith, generaliza-se o entendimento de que a
produtividade depende no j das caractersticas de um determinado sector de
actividade, mas das caractersticas do trabalho abstracto o trabalho em geral, o
trabalho tout court (Marx) ou trabalho enquanto tal (Napoleoni) , do dispndio
de energia fsica e psquica exigido no processo de produo (qualquer que seja
o objecto sobre que este incide), daquilo que comum a todas as formas de
trabalho, independentemente da sua forma concreta ou do sector de actividade
produtiva em que se exerce.
Dava-se deste modo um passo decisivo no sentido de conceber e explicar
o excedente em termos de valor e no j em termos fsicos (como os fisiocratas),
no sentido de equacionar a necessidade de uma teoria do valor e no sentido de
configurar esta como uma teoria do valor-trabalho, ligando a teoria do valor ao
trabalho em geral, entendido como a origem e a medida do valor. Escreveu
Napoleoni:
Quando, em Smith, o produto lquido identificado fora da agricultura
a caracterizao em termos de valor torna-se a nica conceptualmente
possvel; consequentemente, com Smith que, pela primeira vez, o
1
Cfr. Riqueza das Naes, I, 122.
2
Cfr. K. MARX, Grundrisse, ed. cit., 65/66.
6
7
problema capital da anlise da economia capitalista consiste em saber o
que que determina o valor das mercadorias.
3
2 - O desenvolvimento da diviso do trabalho trouxe consigo uma enorme
proliferao de tipos muito diferentes de trabalho concreto, criando assim as
condies histricas que possibilitaram (e exigiram) a passagem noo de
trabalho abstracto, uma noo que abstrai das particularidades de cada forma
de trabalho concreto.
Como Marx sublinhou, trata-se de um tipo de economia em que existe
um conjunto muito diversificado de modos concretos de trabalho, e em que
nenhum deles predomina sobre os outros, uma forma de sociedade em que
os indivduos passam com facilidade de um trabalho para outro e consideram
como fortuito e portanto indiferente o carcter especfico do trabalho. S
nestas condies o trabalho deixa de se conceber sob uma forma particular e
no apenas no plano das categorias, mas no da prpria realidade, o trabalho se
torna o meio de produzir a riqueza em geral.
4
Pois bem. O Captulo I do Livro I de Riqueza das Naes ocupa-se
exactamente da diviso do trabalho. Segundo Smith, nela radica a explicao de
grande parte da percia, destreza e bom senso e do maior acrscimo dos
poderes produtivos do trabalho, o qual se verificaria, proporcionalmente
diviso do trabalho, em todas as artes, na medida em que possvel introduzi-
la. Da diviso do trabalho depende, pois, a produtividade do trabalho, i., a
capacidade do trabalho para produzir um excedente:
O grande aumento da quantidade de trabalho que, em consequncia
da diviso do trabalho, o mesmo nmero de pessoas capaz de
executar deve-se a trs circunstncias: primeira, o aumento de destreza
de cada um dos trabalhadores; segunda, a possibilidade de poupar o
tempo que habitualmente se perdia ao passar de uma tarefa a outra; e,
finalmente, a inveno de um grande nmero de mquinas que facilitam
e reduzem o trabalho, e tornam um s homem capaz de realizar o
trabalho de muitos.
5
3
Cfr. C. NAPOLEONI, O valor..., cit., 24. Isto mesmo posto em relevo por Carlos Laranjeiro:
ao detectar em outros ramos da actividade, para alm da agricultura, a possibilidade de
criao de um excedente, Smith passa da produo concreta produo em geral. Com isso a
matriz do acto produtivo desloca-se do objecto (no caso a terra) para o agente transformador (o
trabalho). Nesta medida, o conceito de trabalho abstractiza-se porque se desliga de uma
actividade concreta, o acto de trabalho em si mesmo gerador de valor, independentemente do
objecto sobre que incide. (C. LARANJEIRO, 73).
4
Cfr. K. MARX,Grundrisse, ed. cit., 66.
5
Cfr. Riqueza das Naes, I, 83.
7
8
O homem substituiu deus como gerador da riqueza: esta deixou de ter na
sua origem uma ddiva do Criador de todas as coisas para ser um fruto do
trabalho produtivo dos homens.
Adam Smith deixa muito claro o seu pensamento acerca da origem (da
explicao) da diviso do trabalho:
A diviso do trabalho de que derivam tantas vantagens no procede
originariamente da sabedoria humana, na sua tentativa de prever e procurar
atingir a opulncia geral que ela ocasiona. antes a consequncia necessria,
embora muito lenta e gradual, de uma certa propenso para cambiar, permutar
ou trocar uma coisa por outra (...), propenso que comum a todos os
homens e no se encontra em quaisquer outros animais, que parecem
desconhecer esta e todas as outras espcies de contratos, propenso que um
daqueles princpios originrios da natureza humana, e que , como parece
mais provvel, a consequncia necessria das faculdades do raciocnio e da
fala. (...) Tal como por acordo, por tratado, ou por compra que obtemos uns
dos outros a maior parte do que necessitamos conclui Smith , essa mesma
disposio para a troca que originariamente leva diviso do trabalho.
, pois, esta propenso para a troca, entendida como tendncia inerente
natureza humana, anterior prpria circulao dos bens, que leva as sociedades
humanas a organizar-se de tal forma que as relaes de produo, baseadas na
especializao de cada trabalhador, permitem levar ao mais alto grau de
realizao aquela propenso para a troca.
Uma vez que a diviso do trabalho se tenha estabelecido
completamente, s uma parte muito pequena das necessidades de cada
pessoa ser suprida pelo produto do seu prprio trabalho. De longe a
maior parte dessas necessidades ter de ser satisfeita graas troca da
parte do produto do trabalho de cada um que excede o seu prprio
consumo, por aquelas parcelas do produto do trabalho dos outros
homens de que ele necessita. Assim, todos os homens vivem da troca,
tornando-se, at certo ponto, mercadores, e a prpria sociedade se vai
transformando numa verdadeira sociedade mercantil .
3 A partir desta sociedade mercantil, na qual as trocas de bens
desempenham uma funo essencial e a moeda se apresenta como
instrumento universal do comrcio, Adam Smith prope-se examinar as
regras que os homens naturalmente observam ao trocar esses bens, quer uns
pelos outros, quer por dinheiro. So estas regras que determinam o valor
8
9
relativo ou valor de troca dos bens, noo que Smith distingue claramente da de
valor de uso. Esta a distino:
Deve observar-se que a palavra VALOR tem dois significados
diferentes; umas vezes exprime a utilidade de um determinado objecto;
outras, o poder de compra de outros objectos que a posse desse
representa. O primeiro pode designar-se por valor de uso; o segundo
por valor de troca. As coisas que tm o maior valor de uso, tm, em
geral, pouco ou nenhum valor de troca; e, pelo contrrio, as que tm o
maior valor de troca tm, geralmente, pouco ou nenhum valor de uso.
Nada mais til do que a gua: mas com ela praticamente nada pode
comprar-se; praticamente nada pode obter-se em troca dela. Pelo
contrrio, um diamante no tem praticamente qualquer valor de uso; no
entanto, pode normalmente obter-se grande quantidade de outros bens
em troca dele.
6
No Captulo V Smith analisa, no o problema da causa, origem ou princpio
do valor, mas o problema da medida (i., do padro de medida) do valor dos bens,
a verdadeira medida do valor de troca ou em que consiste o preo real de todos
os bens. Este problema adquiriu importncia fundamental a partir do
reconhecimento da existncia do excedente nas vrias actividades econmicas e
no j apenas na agricultura, reconhecimento que tornou inadequado o critrio
fisiocrtico de comparao directa entre as quantidades de bens agrcolas
existentes no incio e no fim do processo produtivo.
O trabalho, enquanto trabalho abstracto, est presente em todas as formas
de actividade produtiva. Mas, para cada homem (trabalhador) em concreto, o
trabalho significa sempre o sacrifcio de uma certa parcela de bem-estar,
liberdade e felicidade.
Se cada homem consumisse (utilizasse) apenas os bens por si prprio
produzidos, o valor dos bens utilizados corresponderia ao esforo do nosso
prprio corpo para os produzir: o verdadeiro preo de todas as coisas
escreve Smith
7
, aquilo que elas, na realidade, custam ao homem que deseja
adquiri-las, o esforo e a fadiga que necessrio dispender para as obter.
Se se admitir uma sociedade de produtores que trocam (vendem) uma
parte dos bens que produzem para obterem por troca (compra) bens
produzidos por outros, ento, segundo Adam Smith,
aquilo que elas, na realidade, custam ao homem que deseja adquiri-
las o esforo e a fadiga em que necessrio incorrer para as obter.
Aquilo que uma coisa realmente vale para o homem que a adquiriu e
6
Cfr. Riqueza das Naes, I, 117.
7
Cfr. Riqueza das Naes, I, 119ss.
9
10
que deseja desfazer-se dela ou troc-la por outra coisa o esforo e a
fadiga que ela lhe pode poupar, impondo-os a outras pessoas. Aquilo
que compramos, com dinheiro ou em troca de outros bens, adquirido
pelo trabalho, exactamente como aquilo que obtemos custa do esforo
do nosso prprio corpo. Aquele dinheiro ou aqueles outros bens
poupam-nos, na verdade, esse esforo. Contm o valor de uma certa
quantidade de trabalho, que ns trocamos por algo que, no momento, se
supe conter o valor de idntica quantidade.
A relao de troca aqui concebida como troca de equivalentes, como troca
de idnticas quantidades de trabalho. Nestes termos, Adam Smith pode concluir
que
o trabalho foi o primeiro preo, a moeda original, com que se pagaram
todas as coisas. No foi com ouro ou com prata, mas com trabalho, que
toda a riqueza do mundo foi originariamente adquirida; e o seu valor,
para aqueles que a possuem e desejam troc-la por novos produtos,
exactamente igual quantidade de trabalho que ela lhes permitir
comprar ou dominar.
Nas sociedades assentes na diviso do trabalho e na produo com vista
troca (ao mercado), a riqueza de cada indivduo i. , o conjunto dos valores de
uso que em cada perodo so colocados sua disposio depende,
fundamentalmente, do trabalho realizado pelos outros (do trabalho contido nas
mercadorias produzidas pelos outros indivduos). O acesso de cada um
riqueza produzida pelos outros depende do valor de troca das mercadorias por
ele prprio produzidas e que est disposto a trocar por aquelas que no produz.
O valor de troca consiste, neste sentido, na capacidade de adquirir riqueza (=
valor de uso). E o valor de troca de uma mercadoria mede-se pela quantidade de
trabalho (includa nas mercadorias produzidas por outrem) que essa
mercadoria permite adquirir a quem a possui e no tenciona us-la para
consumo prprio. a teoria do valor de troca entendido como labour
commanded, expressa deste modo logo no pargrafo inicial do Captulo V de
Riqueza das Naes:
Cada homem rico ou pobre consoante o grau em que lhe dado fruir
dos bens necessrios vida e ao conforto e das diverses prprias dos
seres humanos. Mas, aps a diviso do trabalho se ter estabelecido
completamente, o trabalho de cada homem s poder prov-lo de uma
pequenssima parte desses bens. A grande maioria deles ter de ser
suprida pelo trabalho de outros homens e, assim, ele ser rico ou pobre
consoante a quantidade desse trabalho sobre que ele pode adquirir
domnio, ou que lhe possvel comprar. Portanto, o valor de qualquer
mercadoria para a pessoa que a possui e no tenciona us-la ou
consumi-la, mas sim troc-la por outras mercadorias, igual
10
11
quantidade de trabalho que ela lhe permite comprar ou dominar. O trabalho
constitui, pois, a verdadeira medida do valor de troca de todos os bens
[Sublinhado nosso]
E mais frente, comentando a afirmao de Hobbes de que riqueza poder,
Adam Smith esclarece que este poder poder de compra (um certo domnio
sobre todo o trabalho, ou sobre todo o produto do trabalho que, nesse
momento, se encontra no mercado):
A fortuna maior ou menor precisamente na razo directa da
dimenso desse poder; ou da quantidade de trabalho de outros homens,
ou, o que o mesmo, do produto do trabalho de outros homens que ela
lhe permite comprar ou dominar. O valor de troca de qualquer coisa
sempre precisamente igual dimenso desse poder que ela confere ao
seu possuidor.
8
Em sntese: nas sociedades baseadas na troca, o valor de qualquer
mercadoria mede-se pela quantidade de trabalho que ela permite comprar ou
dominar. O trabalho (the labour commanded) constitui a nica, a verdadeira
medida do valor de troca de todos os bens.
Embora reconhea que o trabalho a verdadeira medida do valor de
troca de todos os bens, Smith chama a ateno para o facto de que
muitas vezes difcil determinar a relao que existe entre duas
quantidades de trabalho diferentes. O tempo gasto em dois tipos de
trabalho diferentes no basta, por si s, em todos os casos, para definir
essa relao. Os diversos graus de dificuldade que as tarefas implicam e
os vrios graus de percia nelas aplicados tm igualmente de ser
tomados em conta. Pode haver mais trabalho numa hora de duro
esforo, que em duas horas de actividade descuidada; ou numa hora de
aplicao a uma arte que custou dez anos de trabalho a aprender, que
num ms de actividade aplicada a uma tarefa vulgar e bvia. Mas no
difcil achar uma medida exacta, quer para a dificuldade, quer para a
percia. certo que, ao trocarem-se uns pelos outros os produtos de
diferentes espcies de trabalho, elas so habitualmente, e em certa
medida, tomadas em conta. Isso consegue-se, todavia, no pela
utilizao de uma medida exacta, mas atravs dos processos de ajuste
do mercado, de acordo com aquela espcie de igualdade, que, embora
no seja exacta, suficiente para permitir levar a cabo as actividades da
vida corrente.
E observa tambm que no em termos de trabalho que esse valor
normalmente calculado:
8
Cfr. Riqueza das Naes, I, 121.
11
12
mais frequente que cada mercadoria seja trocada por outras mercadorias do
que por trabalho; sendo, por consequncia, comparada com aquelas.
, pois, mais natural calcular o seu valor de troca em termos da
quantidade de alguma outra mercadoria, do que em termos do trabalho que
com ela se pode adquirir. Alm disso, a maior parte das pessoas compreende
melhor o que se entende por uma certa quantidade de um determinado bem,
que por uma quantidade de trabalho. O primeiro um vulgar objecto palpvel;
o segundo, uma noo abstracta que, embora possa tornar-se suficientemente
inteligvel, no de modo algum to natural e bvia.
(...) Quando cessa a troca directa e a moeda se torna no instrumento
generalizado do comrcio continua Smith , cada mercadoria passa a ser mais
frequentemente trocada por moeda do que por qualquer outra mercadoria. (...)
Da que o valor de troca de cada mercadoria seja mais frequentemente
calculado em termos da quantidade de moeda por que possvel troc-la, do
que em termos de trabalho ou de qualquer outro bem.
Mas o prprio Adam Smith que logo adverte que
o ouro e a prata, como todos os outros bens, tm valor varivel, sendo
umas vezes mais baratos, outras vezes mais caros, umas vezes mais
fceis de adquirir, outras mais difceis. A quantidade de trabalho que
uma certa quantidade desses metais permite adquirir ou dominar, ou a
quantidade de outros bens por que possvel troc-los, depende, em
qualquer momento, da abundncia ou escassez das minas conhecidas
por essa altura.
Da a sua concluso no sentido de rejeitar a moeda como medida do valor
dos outros bens e de defender que o trabalho a nica medida universal e
tambm a nica medida justa do valor, ou seja, o nico padro em relao ao
qual se podem referir os valores de todos os bens, em todos os tempos e
lugares:
Tal como uma medida de quantidade cujo valor se altera
constantemente, como acontece com o p, a braa ou a mo-cheia
propriamente ditos, nunca pode constituir uma boa medida das outras
coisas, tambm um bem cujo valor constantemente varia nunca pode
proporcionar uma medida precisa do valor dos outros bens. (...) Em
todos os tempos e lugares caro aquilo que difcil de conseguir, aquilo
cuja aquisio exige muito trabalho; e barato aquilo que se obtm
facilmente ou com muito pouco trabalho. Portanto, s o trabalho, cujo
valor nunca varia, o genuno e verdadeiro padro em termos do qual o
valor de todos os outros bens pode, em qualquer momento e lugar, ser
12
13
estimado e comparado. esse o seu preo real, a moeda somente o
preo nominal.
9
4 - No Captulo VI do Livro I de Riqueza das Naes estuda Adam Smith a
questo de saber qual a origem do valor.
Smith comea por conceber uma situao hipottica em que as relaes
entre os homens decorreriam em conformidade com o direito natural. Designa
esta situao como o rude estado da sociedade, que precede tanto a
acumulao do capital como a apropriao da terra. Nesta situao a relao
entre a quantidade de trabalho necessrio para se obterem diferentes objectos
parece ser o nico elemento com base no qual se determina a razo de troca. E
Adam Smith exemplifica:
Se, por exemplo, num pas de caadores, custa habitualmente o dobro
do trabalho matar um castor que matar um veado, um castor valer ou
trocar-se- naturalmente por dois veados. natural que aquilo que
constitui normalmente o produto de dois dias ou de duas horas de
trabalho valha o dobro do que habitualmente produzido num dia ou
numa hora de trabalho.
10
Surge aqui um novo conceito, o de trabalho necessrio, i. , a quantidade de
trabalho necessria para se produzir uma mercadoria. E, neste rude estado da
sociedade, o tempo de trabalho necessrio para se produzir qualquer bem
apresentado como o nico elemento determinante do valor desse bem:
num tal estado de coisas explica Smith , a totalidade do produto
pertence ao trabalhador; e a quantidade de trabalho habitualmente
empregada na obteno ou produo de qualquer bem o nico factor
que pode determinar a quantidade de trabalho por que ele poderia
normalmente trocar-se, que poderia, por seu intermdio, ser adquirida
ou dominada.
11
9
Cfr. Riqueza das Naes, I, 120-124.
10
Cfr. Riqueza das Naes, I, 147.
11
Mas Adam Smith chama a ateno para a necessidade de ter em conta determinados
aspectos: Se um tipo de trabalho for mais rduo do que outro, ter, naturalmente, de tomar-se
em conta essa maior dificuldade; e o produto de uma hora de trabalho desse tipo, pode, muitas
vezes, trocar-se pelo de duas horas de trabalho doutro gnero.
Ou, se uma espcie de trabalho exigir um grau excepcional de destreza e engenho, o apreo em
que os homens tm esses talentos levar naturalmente a atribuir ao seu produto um valor
superior ao que lhe adviria somente do tempo de trabalho nele gasto. Tais talentos s
conseguem normalmente adquirir-se custa de longa aplicao, e o maior valor atribudo aos
seus produtos no ser normalmente mais que uma compensao razovel pelo tempo e
trabalho gastos em adquiri-los. No estdio avanado da sociedade, a maior dificuldade e a
13
14
Na situao hipottica que vimos referindo, o trabalho necessrio (o trabalho
incorporado ou trabalho contido, como por vezes se diz tambm), indica qual a
quantidade de trabalho que essa mercadoria can command. Por outras palavras:
o labour commanded o padro de medida do valor de troca de qualquer
mercadoria; mas o trabalho necessrio que regula a quantidade concreta de
trabalho que uma qualquer mercadoria permite adquirir.
12
Este mesmo problema depois analisado por Adam Smith tendo em vista
a sociedade capitalista, caracterizada pela acumulao do capital e pela
apropriao da terra e, consequentemente, por uma estrutura social assente,
basicamente, em duas classes sociais: uma classe de indivduos que dispem de
riqueza acumulada nas suas mos e uma classe de indivduos industriosos que nada
mais tm de seu alm da sua fora e habilidade de mos.
13
Nesta nova sociedade capitalista, as classes sociais so claramente
definidas por Adam Smith com base na posio de cada uma delas
relativamente actividade produtiva. O prprio Smith observa que, por vezes,
acontece que um ou outro trabalhador possui o capital suficiente, tanto para
comprar as matrias-primas necessrias ao seu trabalho, como para se manter
at ele se achar terminado e para poder levar o produto do seu trabalho at
ao mercado. Nestas condies, este produtor independente simultaneamente
patro e operrio e usufrui da totalidade do produto do seu trabalho, ou da
totalidade do valor que ele acrescenta s matrias-primas sobre as quais se
aplica.
Smith sublinha, porm, que estes trabalhadores independentes so
meramente residuais nas economias e nas sociedades emergentes das
revolues burguesas, nas quais o trabalhador uma pessoa e o proprietrio
do capital, que o emprega, outra. Nesta equao terica, Smith parece
antecipar Marx, reduzindo a estrutura essencial das sociedades capitalistas a
estas duas classes sociais: os trabalhadores (desprovidos da propriedade do
capital, que tm apenas de seu a sua fora e habilidade de mos) e os
proprietrios do capital (que, por disporem de capital acumulado, esto em
condies de contratar indivduos industriosos e de se apropriarem de uma parte
maior percia so normalmente tomadas em conta nos salrios do trabalho, e, provavelmente,
na sua fase mais rude e primitiva fazia-se algo de semelhante (Riqueza das Naes, I, 147/148).
12
Cfr. C. NAPOLEONI, Fisiocracia ..., cit., 46/47 e C. LARANJEIRO, 78-80.
13
Cfr. Riqueza das Naes, I, 269: todo o patrimnio de um homem pobre consiste na sua fora e
habilidade de mos.
14
15
do valor que estes trabalhadores produtivos acrescentam ao valor das matrias-
primas).
14
Pois bem. Numa sociedade assim concebida em que os trabalhadores
esto separados das condies objectivas da produo o trabalho apresenta-
se, para o filsofo escocs, como uma mercadoria que se troca directamente por
outra mercadoria:
Neste estado de coisas, o produto total do trabalho deixa de pertencer
sempre aos trabalhadores.(...) E deixa tambm de ser a quantidade de
trabalho habitualmente empregada na obteno ou na produo de um
bem o nico factor que pode determinar a quantidade por que ele
poderia, normalmente, trocar-se, que poderia, por seu intermdio, ser
adquirida ou dominada.
15
A quantidade de trabalho que se pode obter por troca com uma
determinada mercadoria (labour commanded) continua a ser o padro de medida do
valor de troca dessa mercadoria. Mas o trabalho necessrio (o tempo de trabalho
normalmente dispendido para produzir ou obter essa mercadoria) deixa de ser
o nico factor que pode determinar a quantidade por que ele poderia,
normalmente, trocar-se.
Adam Smith exprime esta ideia nos seguintes termos:
Logo que comea a existir riqueza acumulada nas mos de
determinadas pessoas, algumas delas utiliz-la-o naturalmente para
assalariar indivduos industriosos a quem fornecero matrias-primas e
a subsistncia, a fim de obterem um lucro com a venda do seu trabalho,
ou com aquilo que esse trabalho acrescenta ao valor das matrias-primas.
Ao trocar-se o produto acabado por dinheiro, por trabalho ou por
outros bens, numa quantidade superior que seria necessria para
pagar o preo das matrias-primas e os salrios dos trabalhadores, parte
dela tem de constituir os lucros do empresrio do trabalho, que arrisca o
seu capital nesta aventura. O valor que os trabalhadores acrescentam s
matrias-primas consistir, portanto, neste caso, em duas partes, uma das
quais constituda pelos respectivos salrios, a outra pelos lucros do patro,
relativos ao volume de matrias-primas e salrios por ele adiantados.
Ele no teria qualquer interesse em empreg-los se no esperasse obter,
com a venda do seu trabalho, um pouco mais do que o necessrio para
reconstituir a sua riqueza inicial; e no teria qualquer interesse em
empregar um maior nmero de bens, de preferncia a um volume
14
Cfr. Riqueza das Naes, I, 157 e 176.
15
Cfr. Riqueza das Naes, I, 150.
15
16
menor, se os lucros que aufere no fossem proporcionais ao volume do
capital empregado. [Sublinhado nosso]
16
Quer dizer: Neste estado de coisas, o produto total do trabalho deixa de
pertencer sempre ao trabalhador. Na maioria dos casos, ele obrigado a
partilh-lo com o proprietrio do capital, que o emprega.
Mas o raciocnio de Smith no acaba aqui. Escreve ele:
Logo que toda a terra de um pas se torna propriedade privada, os
seus proprietrios, que, como todos os homens, gostam de colher o que
nunca semearam, exigem uma renda, mesmo pelas suas produes
naturais. A madeira da floresta, a erva do prado, e todos os frutos
naturais da terra que, quando era comum, custavam ao trabalhador
somente o incmodo de os colher, passam, mesmo para ele, a ter um
preo adicional. Passa a ter de pagar a autorizao de colh-los; e ter de
entregar ao proprietrio uma parte daquilo que o seu trabalho colheu ou
produziu. Esta parte, ou, o que o mesmo, o valor desta parte a renda
da terra, que constitui uma terceira componente do preo da maior
parte dos bens.
Em todas as sociedades conclui Smith , o preo de cada bem
corresponde sempre a alguma dessas partes, ou a todas trs; e, em todas as
sociedades avanadas, todas trs entram, em maior ou menor grau, como partes
componentes do preo da grande maioria dos bens. [Sublinhado nosso]
17
Nas condies do capitalismo, a configurao do trabalho como
mercadoria significa, para Adam Smith, que nem todo o produto do trabalho
pertence ao trabalhador: o valor criado pelo trabalho (acrescentado pelo
trabalho s matrias-primas) tem que pagar no s o salrio mas tambm a
renda e o lucro. Sendo assim (i. , no sendo o preo natural das mercadorias
igual ao montante dos salrios pagos para as obter), o facto de uma mercadoria
ser paga pelo dobro de outra no significa que a primeira tenha exigido o dobro
do tempo de trabalho dispendido para a obter, em comparao com o trabalho
necessrio para obter a segunda. O trabalho necessrio corresponde apenas
parte do salrio, o que significa que o labour commanded superior ao trabalho
necessrio. Este j no pode regular a quantidade concreta de trabalho que uma
qualquer mercadoria permite adquirir.
At aqui, a anlise de Smith acerca das partes que compem o preo dos
bens pressupe a aceitao do princpio segundo o qual o trabalho a nica
origem do valor. isto mesmo que Smith afirma quando defende que o lucro e a
16
Cfr. Riqueza das Naes, I, 148/149.
17
Cfr. Riqueza das Naes, I, 151.
16
17
renda so, a par dos salrios, parte do valor que os trabalhadores acrescentam
s matrias-primas. Todo o valor criado pelo trabalho vivo, deduzindo-se a esse
valor o montante do lucro e da renda, que no vo pertencer aos trabalhadores.
isto mesmo que Smith torna claro quando defende (Captulo VIII de
Riqueza das Naes) a concepo da renda e do lucro como dedues ao produto do
trabalho:
Assim que a terra se torna propriedade privada o proprietrio passa a
exigir uma parte de quase todos os produtos que o trabalhador nela
pode criar ou colher. A renda torna-se na primeira deduo ao produto do
trabalho que se emprega na terra.
raro acontecer que a pessoa que cultiva a terra tenha com que manter-
se at fazer as colheitas. geralmente um patro, o rendeiro que o
emprega, que, do seu capital, lhe adianta o sustento, e que no teria
qualquer interesse em empreg-lo se lhe no coubesse uma parcela do
produto do trabalho, ou seja, se o respectivo capital lhe no fosse
restitudo com um lucro. Este lucro corresponde a uma segunda deduo ao
produto do trabalho empregado na terra.
O produto de quase todo o restante trabalho est sujeito a uma deduo
semelhante, devida ao lucro. Em todas as artes e ofcios, a maior parte
dos trabalhadores necessita que um patro lhe adiante as matrias-
primas para o seu trabalho, bem como os respectivos salrios e
manuteno at que ele se ache terminado. O patro comparticipa do
produto do trabalho, ou do valor que ele acrescenta s matrias-primas
sobre as quais se aplica; e nessa comparticipao consiste o lucro.
[Sublinhado nosso]
18
Neste sentido, o trabalho necessrio para produzir uma mercadoria cria
um valor que superior ao montante dos salrios pagos aos trabalhadores. Esta
diferena o excedente, que vai ser distribudo em rendas e lucros. Alguns
autores, incluindo o prprio Marx, tm visto nesta tese de Smith o embrio do
conceito marxista de mais-valia e da teoria marxista da explorao.
19
A concepo que fica exposta (fala-se, por vezes, a este propsito, de teoria
dedutiva) desenvolve o conceito fisiocrtico de excedente e est na base de uma
teoria da distribuio do rendimento que tem como pano de fundo o conflito
social entre os grupos (classes) que vo receber salrios, lucros e rendas, cada
um deles buscando o maior quinho do valor criado pelo trabalho produtivo.
Foi este entendimento que depois foi continuado na obra de Ricardo e de Marx
e dos autores que se revem na perspectiva clssica-marxista da Economia
Poltica.
18
Cfr. Riqueza das Naes, I, 175.
19
Cfr. M. DOBB, 64; C. NAPOLEONI, Fisiocracia..., cit., 48 e C. LARANJEIRO, 82. Ver, no
entanto, as reflexes de C. NAPOLEONI, Discorso..., cit., 37/38.
17
18
Cremos que esta perspectiva a que tem maior peso na obra de
Smith e a mais lgica no contexto da Riqueza das Naes, em consonncia com
o princpio de que o trabalho a fonte originria de todo o valor, de que s o
trabalho produtivo cria um excedente (o bolo que vai ser distribudo pelas
classes sociais em presena); em consonncia com a tese segundo a qual o que
conta, como causa do valor, o trabalho abstracto e no qualquer tipo de trabalho
concreto, cujas caractersticas dependeriam do objecto sobre que ele incide; em
consonncia com o ponto de vista segundo o qual a produtividade do trabalho
depende da diviso do trabalho e no de um qualquer dom da natureza; em
consonncia com a afirmao de que a renda e o lucro so dedues ao produto do
trabalho, so uma parte, que no cabe aos trabalhadores, do valor que os
trabalhadores acrescentam s matrias-primas.
20
5 - A ideia de que o trabalho a origem de todo o valor est presente
tambm na noo smithiana de trabalho produtivo, qual contrape a de trabalho
improdutivo.
21
20
Tem sido, no entanto, abundantemente discutida a ambiguidade de Adam Smith no que se
refere ao enunciado da teoria do valor (C.NAPOLEONI, Discorso, cit., 38, fala de ambiguidade
radical), que se projectou at hoje na teoria econmica.
Pode descortinar-se na obra de Smith outra perspectiva, que parece apontar no sentido de
que o valor de troca se encontra atravs da soma de salrios, rendas e lucros, determinando-se
cada um destes tipos de rendimento independentemente dos outros. Nesta ptica, abandona-se
a noo de excedente e reduz-se o valor soma dos custos de produo ou dos preos dos
factores de produo (a natureza, o trabalho e o capital), preos que dependem das condies
dos mercados do trabalho, da terra e do capital, sem relao com um qualquer valor global
criado previamente pelo trabalho vivo produtivo. A esfera das relaes de troca surge como uma
espcie de sistema autnomo, isolado dos aspectos institucionais (o estatuto jurdico da
propriedade, v.g.), das condies da produo e das relaes sociais que a envolvem (cfr. M.
DOBB, 148/149).
Na sequncia de Sraffa, fala-se de teoria aditiva (adding-up-components cost theory)
para referenciar esta concepo de Adam Smith (continuada depois por Nassau Senior, J. Stuart
Mill, W. Stanley Yevons, J.-B. Say, Alfred Marshall e toda a teoria neo-clssica), que
Schumpeter identifica com o que mais tarde se chamou teoria do custo de produo (cfr. J.
SCHUMPETER, 359).
21
Trabalho improdutivo o que no produz qualquer valor, no de fixando nem corporizando
em qualquer objecto durvel ou mercadoria vendvel que continue a existir uma vez terminado
o trabalho e que permita adquirir, mais tarde, igual quantidade de trabalho (Riqueza das Naes,
I, 582).
Um operrio tipicamente um trabalhador produtivo, do mesmo modo que um criado
um tpico trabalhador improdutivo. Tal como improdutivo salienta Smith o trabalho de
muitas das mais respeitveis classes sociais: O trabalho dos ltimos [dos criados] tem,
contudo, o seu valor e merece uma recompensa tal como o primeiro. Mas o trabalho do operrio
fixa-se e corporiza-se em qualquer objecto particular ou mercadoria vendvel, que dura, pelo
18
19
Na Introduo de Riqueza das Naes Smith refere-se ao trabalho produtivo
como sinnimo de trabalho til (fala mesmo de trabalhadores teis e
produtivos), parecendo que considera o trabalho improdutivo como trabalho
intil. Mais frente, no entanto, considera que os servios prestados pelos
trabalhadores improdutivos podem ser teis e at necessrios.
Mas no Captulo III do Livro II que Adam Smith define trabalho produtivo
como aquele que eleva o valor do objecto a que aplicado, que origina
valor, que acrescenta ao valor das matrias-primas a que se aplica o valor da
sua prpria manuteno e o lucro do patro. O trabalho produtivo fixa-se e
corporiza-se em qualquer objecto particular ou mercadoria vendvel que dura,
pelo menos, durante algum tempo aps a concluso do trabalho, como se se
armazenasse uma certa quantidade de trabalho para ser utilizada, se necessrio,
em qualquer outra ocasio.
22
Da noo de trabalho produtivo ficam, assim,
excludos os servios, que, no tempo em que Smith escreveu consistiam,
fundamentalmente, em servios pessoais (servios domsticos), que eram, em
regra, consumos de luxo.
A ideia que emerge com mais fora da elaborao de Adam Smith parece
ser a que idenfica o trabalho produtivo com o trabalho que origina valor, ideia que
menos, durante algum tempo aps a concluso do trabalho. como se se armazenasse uma certa
quantidade de trabalho para ser utilizada, se necessrio, em qualquer outra ocasio. Esse objecto
ou, o que o mesmo, o preo respectivo, pode mais tarde, se necessrio, pr em movimento
uma quantidade de trabalho igual que lhe deu origem. O trabalho de um criado, pelo
contrrio, no se fixa nem se corporiza em qualquer objecto particular ou numa mercadoria
vendvel. Os seus servios deixam, em geral, de existir no prprio instante em que so
prestados e raramente deixam atrs de si qualquer resduo ou valor com o qual se torne
possvel obter, mais tarde, igual quantidade desse servio (Riqueza das Naes, I, 582).
Por isso Adam Smith defende que um homem enriquece empregando grande nmero de
operrios e empobrece se mantiver uma multido de criados. Exactamente porque o trabalho
de um criado nada acrescenta a qualquer valor, o que significa que a manuteno de um
criado nunca recuperada. Pelo contrrio: embora o patro adiante ao operrio os seus
salrios, ele, na realidade, no implica qualquer dispndio para o patro, uma vez que o valor
desses salrios lhe , em regra, restitudo, com um lucro, por meio do valor acrescido do objecto
sobre o qual o operrio trabalhou. (...) O trabalho de um operrio acrescenta geralmente, ao
valor das matrias-primas a que se aplica, o valor da sua prpria manuteno e o lucro do
patro (Riqueza das Naes, I, 581).
Em consonncia com esta concepo, Smith sustenta que os trabalhadores improdutivos
so consumidores puros (tal como os proprietrios de terras), uma vez que se mantm
consumindo uma parte do produto anual da actividade dos outros indivduos. Dentro desta
mesma lgica, advoga a ideia segundo a qual os salrios dos trabalhadores produtivos
desempenham uma funo de capital, enquanto que a parte da riqueza utilizada na manuteno
de trabalhadores improdutivos retirada do capital, passando a fazer parte da riqueza
destinada a consumo imediato.
22
Cfr. Riqueza das Naes, I, 581ss.
19
20
se casa perfeitamente com aquela outra segundo a qual o trabalho (o trabalho
abstracto) a nica fonte de valor.
O trabalho produtivo o que cria riqueza,
qual vo ser deduzidos os montantes arrecadados pelos capitalistas e pelos
proprietrios de terras. O lucro e a renda no se justificam, portanto, enquanto
rendimentos criados pelo capital e pela terra, nem representam qualquer
remunerao devida a estes factores de produo (como defender Say). Os
capitalistas (os patres ou empresrios), uma vez pagos os salrios aos
trabalhadores produtivos, apropriam-se do excedente que estes criaram para
alm do correspondente ao salrio: se os patres ou empresrios (capitalistas)
forem rendeiros agrcolas, ento tero de entregar aos proprietrios fundirios,
a ttulo de renda da terra, uma parte do excedente que em primeira mo
chamaram a si.
Esta noo aquela que Marx chamou a definio correcta: o valor
criado pelo trabalho produtivo e incorporado nos bens produzidos paga o
trabalho necessrio para produzir estes bens (salrio) e deixa ainda um
excedente (renda e lucro). Neste sentido, pode dizer-se que o trabalho
produtivo o que produz um excedente: o valor criado pelos trabalhadores
produtivos escreve Smith inclui o valor da sua prpria manuteno e o lucro
do patro.
Este parece ser tambm o entendimento de Claudio Napoleoni quando
define a noo smithiana de trabalho produtivo como
aquele trabalho que no s reproduz o valor dos prprios meios de
subsistncia, mas reproduz tambm um valor adicional (que
apropriado como renda ou como lucro); podemos agora precisar
acentua Napoleoni dizendo que produtivo aquele trabalho que d
lugar a um produto pelo qual o labour commanded maior que o trabalho
incorporado.
23
certo que do texto de Adam Smith emerge uma outra leitura possvel da
noo de trabalho produtivo, que a liga ao facto de se fixar ou incorporar em
uma mercadoria vendvel, por contraposio ao trabalho improdutivo, entendido
como trabalho que no se fixa nem se incorpora em uma mercadoria vendvel,
i. , como servio que deixa de existir no prprio momento em que prestado,
sem que fique atrs de si qualquer resduo ou valor que, mais tarde, permita
obter igual quantidade desse servio.
Esta j seria uma leitura dificilmente compatvel com a lgica marxista,
segundo a qual o que relevante a natureza das relaes sociais de produo,
o que significa que a fora de trabalho de um trabalhador assalariado que presta
23
Cfr. C. NAPOLEONI, Fisiocracia..., cit., 49.
20
21
servios ao seu patro tambm pode gerar mais-valia. Cremos, porm, com
Maurice Dobb, que
razovel supor que Adam Smith no encontrou contradio entre as
duas definies porque no considerava possvel lucro ou mais-valia a
no ser quando o trabalho em questo produzisse um bem vendvel.
Sem dvida que as duas noes coincidem em grande parte.
24
6 - O que fica dito permite atribuir a Smith a compreenso (que Marx
desenvolveria e esclareceria) de que a dinmica do processo de produo
capitalista assenta na obteno de lucros. Como salienta Ronald Meek, em
Riqueza das Naes a tendncia para maximizar o lucro e para acumular capital
apresenta-se como o requisito essencial e a causa bsica do crescimento da
riqueza.
25
Nas economias pr-capitalistas, a produo destinava-se satisfao de
necessidades: ou pelo consumo dos prprios bens que cada um produz, ou por
troca de uma parte destes bens por outros que esse indivduo no produz, mas
de que igualmente carece. A troca (directa ou monetria, servindo a moeda
como simples intermedirio nas trocas) visa apenas proporcionar a cada
interveniente uma satisfao mais adequada das necessidades, mediante a
obteno de um valor de uso maior do que aquele que se d. Na economia
capitalista, o processo assenta na iniciativa dos capitalistas: quem dispe de
dinheiro acumulado, vai utiliz-lo na compra de fora de trabalho e de meios de
produo, com vista produo de mercadorias que destina venda no
mercado, para obter mais dinheiro do que aquele que utilizara:
Logo que comea a existir riqueza acumulada nas mos de
determinadas pessoas escreve Smith algumas delas utiliz-la-o
naturalmente para assalariar indivduos industriosos a quem fornecero
matrias-primas e a subsistncia, a fim de obterem um lucro com a
venda do seu trabalho, ou com aquilo que esse trabalho acrescenta ao valor
das matrias-primas. Ao trocar-se o produto acabado por dinheiro, por
trabalho ou por outros bens, numa quantidade superior que seria
necessria para pagar o preo das matrias-primas e os salrios dos
trabalhadores, parte dela tem de constituir os lucros do empresrio do
trabalho, que arrisca o seu capital nesta aventura. O valor que os
trabalhadores acrescentam s matrias-primas consistir, portanto, neste
caso, em duas partes, uma das quais constituda pelos respectivos
salrios, a outra pelos lucros do patro, relativos ao volume das matrias-
primas e salrios por ele adiantados [sublinhados nossos].
26
24
Cfr. M. DOBB, 81-83.
25
Cfr. R. MEEK, Economia..., cit., 35.
26
Cfr. Riqueza das Naes, I, 148/149.
21
22
Nas economias capitalistas como bem observa Adam Smith -,
seja qual for a parte da sua riqueza que um homem empregue como
capital, espera que ela lhe seja sempre restituda com um lucro; aquele
que dispe de riqueza acumulada s aplica capital numa indstria com
vista ao lucro, o que significa que o titular do capital no teria
qualquer interesse em empregar indivduos industriosos se no
esperasse obter, com a venda do seu trabalho, um pouco mais do que o
necessrio para reconstituir a sua riqueza inicial; e no teria qualquer
interesse em empregar um maior nmero de bens, de preferncia a um
volume menor, se os lucros que aufere no fossem proporcionais ao
volume do capital empregado
27
A esta luz, fica claro que o objectivo da produo deixa de ser a obteno,
por troca com os bens produzidos, de outros bens diferentes com valor de uso
diferente, mas sim a expanso quantitativa do valor de troca. A obteno de
mais dinheiro (Marx falar de Mehrwert: mais valor ou mais-valia), , pois, o
objectivo directo e o incentivo determinante da produo nos quadros do
capitalismo.
Na construo smithiana, a acumulao do capital surge como a pedra
angular da sua teoria do desenvolvimento econmico, uma vez que da
dimenso da acumulao do capital depende no s o nmero de trabalhadores
que podem ser utilizados na produo (este nmero s pode aumentar se
aumentarem os fundos necessrios sua manuteno, i. , se aumentar o
capital), mas tambm o nvel de produtividade dos trabalhadores produtivos:
28
A capacidade produtiva (...) s poder aumentar em consequncia ou de
um acrscimo do nmero e melhoria das mquinas e instrumentos que
facilitam e reduzem o respectivo trabalho, ou de uma diviso e distribuio do
emprego mais adequada(...) Em qualquer dos casos torna-se quase sempre
necessrio um capital adicional. somente graas a esse capital adicional que o
empresrio de qualquer oficina pode fornecer aos seus operrios maquinaria
mais aperfeioada, ou pode distribuir o trabalho entre eles de forma mais
adequada.
Mais detidamente, Adam Smith explica:
A quantidade de matrias-primas que pode ser trabalhada pelo
mesmo nmero de pessoas aumenta numa grande proporo, medida
que o trabalho se subdivide cada vez mais; e, porque as tarefas
executadas por cada operrio se reduzem gradualmente a um maior
grau de simplicidade, torna-se possvel a inveno de uma variedade de
27
Cfr. Riqueza das Naes, I, 148/149, 585 e 757.
28
Cfr: Riqueza das Naes, I, 600.
22
23
novas mquinas, capazes de facilitar e encurtar tais tarefas. Por
conseguinte, necessrio, medida que progride a diviso do trabalho,
e a fim de proporcionar emprego constante a igual nmero de
trabalhadores, armazenar um conjunto de provises igual ao que
utilizado numa situao de maior atraso, mas um conjunto de matrias-
primas e ferramentas superior ao ento necessrio. Contudo, o nmero
de trabalhadores em cada ramo de actividade aumenta geralmente com
a diviso do trabalho nesse ramo, ou antes, o aumento do nmero de
trabalhadores que lhes permite classificarem-se e subdividirem-se dessa
forma.
(...) A pessoa que emprega o seu capital na manuteno da fora de
trabalho, com certeza deseja empreg-lo por forma a produzir a maior
quantidade possvel de trabalho. Procura, portanto, conseguir a mais
adequada distribuio de trabalho entre os seus operrios e fornecer-
lhes as melhores mquinas que tenha possibilidade de inventar ou de
adquirir. As suas possibilidades em qualquer destes campos vo
geralmente tanto mais longe quanto maior for o capital de que dispuser,
ou o nmero de pessoas que puderem empregar. Deste modo, no s o
volume de actividade desenvolvida num pas cresce com o acrscimo
do capital que a emprega, como, em consequncia desse mesmo
aumento, idntico volume de actividade passa a produzir uma
quantidade de trabalho muito superior
29
.
Na senda das concepes que alimentaram o movimento religioso da
Reforma (essencialmente uma religio burguesa, como observou Marx),
Adam Smith explicou a acumulao do capital com base nas qualidades dos
homens. partida, todos tm a mesma probabilidade (e o mesmo direito) de
enriquecer. Mas verdade que uns so trabalhadores (industriosos), frugais
(parcimoniosos) e inteligentes, enquanto que outros so indolentes
(preguiosos), perdulrios e incapazes de gerir bem o dinheiro que ganham.
Assim se explicaria que uns sejam ricos e outros no. Na ltima categoria de
pessoas incluam-se os trabalhadores, que, por culpa sua, nunca poderiam ser
ricos: ao longo do sculo XVIII, a tese, to difundida, da preguia natural das
classes trabalhadoras (o prprio Adam Smith fala da tendncia para a preguia
nos pobres) esteve ao servio desta justificao.
30
29
Cfr. Riqueza das Naes, I, 494/495.
30
Cfr. Riqueza das Naes, II, 316. Talvez por isso e porque, como salienta Rogrio SOARES,
60), sendo a riqueza vista como uma bno de Deus, a indigncia significava a denegao da
Graa divina - os pobres fossem tratados da mesma desapiedada maneira que os criminosos e
os vagabundos. Perante estas concepes smithianas, comentou Marx que a acumulao
original assim entendida desempenha na economia poltica aproximadamente o mesmo papel
que o pecado original na teologia (...). Num tempo remoto, havia, de um lado, uma elite
diligente, inteligente, e, sobretudo, frugal, e, do outro, uma escumalha preguiosa, que
dissipava tudo o que tinha a mais (...) E deste pecado original conclui Marx (O Capital, ed. cit.,
104/105) datam a pobreza da grande massa, a qual continua, a despeito de todo o trabalho, a
23
24
Acompanhemos o raciocnio de Smith: Os capitais escreve ele - so
aumentados pela parcimnia e so reduzidos pela prodigalidade e mau
emprego. Por isso que, a seus olhos, todo o prdigo surge como um inimigo
pblico e todo o homem frugal como um benfeitor pblico.
Toda a parte do rendimento que uma pessoa poupa acrescenta-a ao
seu capital, empregando-a, em seguida, na manuteno de um nmero
adicional de trabalhadores produtivos, ou permitindo que uma outra
pessoa o faa, emprestando-lhe essa parte do seu capital contra um juro,
ou seja, uma parcela dos lucros. Tal como o capital de um indivduo
apenas pode ser aumentado pelo que ele poupar do seu rendimento ou
ganho anual, assim tambm o capital de uma sociedade, que no mais
do que o conjunto do de todos os indivduos que a compem, apenas
dessa forma pode ser acrescido.
a parcimnia, e no o nvel de actividade, que a causa imediata do
aumento de capital. Mas a actividade que fornece aquilo que a
parcimnia acumula. No entanto, por mais que a actividade fornecesse
capital, se a parcimnia o no poupasse e acumulasse, ele nunca
cresceria.
A parcimnia, fazendo aumentar o fundo destinado manuteno de
trabalhadores produtivos, tende a aumentar o nmero de indivduos
cujo trabalho acrescenta valor ao objecto a que aplicado. Tende, por
consequncia, a aumentar o valor de troca do produto anual da terra e
do trabalho do pas. Aumenta o nvel de actividade capaz de fazer
aumentar o valor desse produto .
31
7 - Fica claro que Adam Smith compreendeu perfeitamente a importncia
da poupana e da acumulao do capital nas sociedades capitalistas. Porque s
com base na acumulao do capital pode aumentar o nmero de trabalhadores
produtivos utilizado: o capital, empregado com vista obteno do lucro,
que pe em movimento a maior parte do trabalho til em todas as sociedades.
No h qualquer outra forma de aumentar o produto anual da terra e do
trabalho de uma nao escreve ele que no seja pelo aumento do nmero
dos trabalhadores produtivos ou da capacidade produtiva dos trabalhadores j
antes empregados. evidente que o nmero dos trabalhadores produtivos s
no ter para vender a no ser a si prpria, e a riqueza de uns poucos, a qual cresce
continuamente, embora eles h muito tenham deixado de trabalhar.
A Reforma abriu o caminho s concepes deterministas que mais tarde vieram a informar as
teorias que procuraram legitimar o racismo e que tentaram (e tentam) explicar o
subdesenvolvimento como um fenmeno perfeitamente natural, dadas as caractersticas
naturais dos povos dos pases subdesenvolvidos e das regies em que habitam.
31
Cfr. Riqueza das Naes, I, 592.
24
25
pode aumentar significativamente em consequncia de um aumento do capital,
ou seja, de fundos destinados sua manuteno.
32
E porque s com base na acumulao do capital pode aumentar a
produtividade: Quanto capacidade produtiva do mesmo nmero de
trabalhadores observa Smith , ela s poder aumentar em consequncia ou
de um acrscimo do nmero e melhoria das mquinas e instrumentos que
facilitam e reduzem o respectivo trabalho, ou de uma diviso e distribuio do
emprego mais adequada. Da a sua concluso: em qualquer dos casos torna-
se quase sempre necessrio um capital adicional. somente graas a esse
capital adicional que o empresrio de qualquer oficina pode fornecer aos seus
operrios maquinaria mais aperfeioada, ou pode distribuir o trabalho entre
eles de forma mais adequada.
Mais detidamente, Adam Smith explica:
A quantidade de matrias-primas que pode ser trabalhada pelo
mesmo nmero de pessoas aumenta numa grande proporo, medida
que o trabalho se subdivide cada vez mais; e, porque as tarefas
executadas por cada operrio se reduzem gradualmente a um maior
grau de simplicidade, torna-se possvel a inveno de uma variedade de
novas mquinas, capazes de facilitar e encurtar tais tarefas. Por
conseguinte, necessrio, medida que progride a diviso do trabalho,
e a fim de proporcionar emprego constante a igual nmero de
trabalhadores, armazenar um conjunto de provises igual ao que
utilizado numa situao de maior atraso, mas um conjunto de matrias-
primas e ferramentas superior ao ento necessrio. Contudo, o nmero
de trabalhadores em cada ramo de actividade aumenta geralmente com
a diviso do trabalho nesse ramo, ou antes, o aumento do nmero de
trabalhadores que lhes permite classificarem-se e subdividirem-se dessa
forma.
(...) A pessoa que emprega o seu capital na manuteno da fora de
trabalho, com certeza deseja empreg-lo por forma a produzir a maior
quantidade possvel de trabalho. Procura, portanto, conseguir a mais
adequada distribuio de trabalho entre os seus operrios e fornecer-
lhes as melhores mquinas que tenha possibilidade de inventar ou de
32
Cfr. Riqueza das Naes, I, 476 e 600.
Noutro ponto da Riqueza das Naes (I, 634), Adam Smith
observa que quando o capital de um pas no for suficiente para atender quelas trs
finalidades [manter o cultivo, as manufacturas e os transportes], quanto maior for a parte dele
empregada na agricultura, tanto maior ser a quantidade de trabalho produtivo que ele
movimentar dentro do pas, e o mesmo acontecer com o valor acrescentado pelo emprego
desse capital ao produto da terra e do trabalho da sociedade em cada ano. A seguir
agricultura, o capital empregado nas indstrias que movimenta a maior quantidade de
trabalho produtivo e acrescenta o maior valor ao produto anual. O que empregado no
comrcio de exportao o que, dos trs, produz o menor efeito. Perpassa aqui um certo apego
valorizao fisiocrtica da agricultura, que contrasta com a compreenso da importncia da
indstria e do papel da diviso do trabalho nesta nova actividade econmica capitalista.
25
26
adquirir. As suas possibilidades em qualquer destes campos vo
geralmente tanto mais longe quanto maior for o capital de que dispuser,
ou o nmero de pessoas que puderem empregar. Deste modo, no s o
volume de actividade desenvolvida num pas cresce com o acrscimo
do capital que a emprega, como, em consequncia desse mesmo
aumento, idntico volume de actividade passa a produzir uma
quantidade de trabalho muito superior.
33
O seu optimismo acerca da dinmica destas sociedades no sentido do
progressive state (atravs de um proceso de crescimento auto-sustentado) assenta no
pressuposto de que a prodigalidade o fruto da paixo pela fruio presente
que, por vezes, embora violenta e difcil de dominar, , em geral, apenas
momentnea e ocasional, enquanto que o princpio que leva o indivduo a
poupar o desejo de melhorar a sua situao, desejo que, embora normalmente
calmo e controlado, nos acompanha desde o bero e no nos abandona at ao
tmulo.
O quadro fica completo se tivermos em conta este outro pressuposto do
pensamento smithiano:
o esforo natural de cada indivduo para melhorar a sua prpria
condio, quando lhe permitido exerc-lo com liberdade e segurana,
um princpio to poderoso que s por si e sem qualquer outro
contributo no s capaz de criar a riqueza e prosperidade de uma
sociedade como ainda de vencer um grande nmero de obstculos com
que a insensatez das leis humanas tantas vezes cumula as suas aces
.
34
Adam Smith salienta, porm, que confia na parcimnia e na prudncia dos
indivduos privados, mas atribui ao estado os defeitos da prodigalidade e do mau
emprego dos capitais. Rejeita, pois, qualquer papel activo do estado no processo
de acumulao do capital, designadamente cobrando receitas atravs de
impostos sobre os rendimentos privados, com o objectivo de fazer despesas que
se substituam s despesas dos particulares.
Assim se exprime o filsofo:
As grandes naes no so jamais arruinadas pela prodigalidade e o
mau emprego dos capitais privados, embora s vezes o sejam pelos
pblicos. Na maior parte dos pases, a totalidade ou a quase totalidade
das receitas pblicas empregada na manuteno de indivduos no
produtivos. o caso de todos os que compem uma corte numerosa e
esplndida, uma grande instituio eclesistica, armadas e exrcitos
33
Cfr. Riqueza das Naes, I, 494/495.
34
Cfr. Riqueza das Naes, I, 68.
26
27
numerosos que em tempos de paz nada produzem e em tempos de
guerra nada adquirem que possa compensar o dispndio incorrido com
a sua manuteno, ainda que s durante o perodo de durao da
guerra. Toda essa gente, dado que nada produz, tem de ser mantida
pelo produto do trabalho de outros homens. Deste modo, quando se
multiplicam para alm do necessrio, podem, num ano, consumir uma
parcela to elevada daquele produto que a parte restante no baste para
manter os trabalhadores produtivos, necessrios reproduo do ano
seguinte. Assim, a produo do ano seguinte ser inferior desse ano e,
se se mantiver o mesmo desconcerto, a do ano a seguir reduzir-se-
ainda mais. Pode acontecer que esses indivduos improdutivos, que
deviam ser mantidos apenas por uma parte do rendimento disponvel
do conjunto das pessoas, cheguem a consumir uma parcela to grande
da totalidade de rendimento, obrigando to elevado nmero de
indivduos a consumir o respectivo capital, ou seja, os fundos
destinados manuteno do trabalho produtivo, que a frugalidade e
adequado emprego dos capitais por parte dos indivduos no seja
suficiente para compensar a perda e degradao do produto originadas
por esse violento e forado abuso.
Todavia, na maior parte das ocasies, esta frugalidade e adequado
emprego de capitais so, ao que a experincia mostra, suficientes para
compensar no s a prodigalidade e mau emprego de capitais privados,
mas tambm a extravagncia pblica dos governos. O esforo uniforme,
constante e ininterrupto de todos os homens para melhorar a sua
situao, princpio de que deriva originariamente a opulncia pblica e
nacional, tal como a privada, muitas vezes suficientemente poderoso
para manter o progresso natural das coisas no sentido da sua melhoria,
a despeito tanto da extravagncia do governo como dos erros da
administrao. Tal como o princpio desconhecido da vida animal
consegue muitas vezes restituir a sade e o vigor constituio, apesar
no s da doena, mas tambm dos absurdos tratamentos prescritos
pelo mdico
35
.
Mas Adam Smith acrescenta ainda outra exigncia: as virtudes privadas
da frugalidade e da prudncia s produziro os seus efeitos benficos se o estado
no limitar a liberdade individual, nem sequer para limitar os consumos de luxo
atravs de leis sumpturias ou da proibio da importao de bens de luxo.
Vejamos o que diz o prprio Smith:
Ainda que a prodigalidade do governo tenha, sem dvida, retardado
o progresso natural da Inglaterra no sentido da riqueza e do
desenvolvimento, no lhe foi possvel impedi-lo.
(...) O produto anual da terra e do trabalho do pas agora, sem dvida,
muito superior ao registado ao tempo quer da restaurao, quer da
revoluo. Deve, por conseguinte, ser tambm muito elevado o capital
35
Cfr. Riqueza das Naes, I, 599/600.
27
28
anualmente empregado no cultivo das suas terras e na manuteno do
seu trabalho. No meio de todas as exigncias do governo, esse capital
foi silenciosa e gradualmente acumulado pela frugalidade e bom
emprego dos capitais por parte dos particulares, pelo seu universal,
contnuo e ininterrupto esforo para melhorar a situao de cada um.
Foi este esforo, protegido pela lei e acompanhado da liberdade de
exercer-se da forma mais proveitosa, que manteve a Inglaterra no
caminho da riqueza e do progresso, em todos os tempos passados, e
esperamos bem que o continue a conseguir em todos os tempos
vindouros. Contudo, assim como a Inglaterra nunca beneficiou de um
governo frugal, tambm jamais contou a parcimnia entre as virtudes
caractersticas dos seus habitantes. Por consequncia, constitui a maior
impertinncia e presuno por parte dos reis e ministros o pretenderem
fiscalizar a economia dos cidados e restringir os seus gastos, seja
atravs de leis sumpturias, seja pela proibio da importao de bens
de luxo. Eles so sempre, e sem excepo, os maiores perdulrios que
existem na sociedade. Cuidem bem dos seus prprios gastos e podero
confiadamente deixar aos particulares o cuidado dos deles. Se a
extravagncia dos governantes no arruinar o estado, poderemos estar
certos de que a dos sbditos jamais o far
36
O optimismo do sistema smithiano fica completo se tivermos em conta que
Smith (tal como Say e Ricardo) entendia que a poupana sempre totalmente
investida. Estariam assim criadas as condies para que o progresso econmico
se verificasse sem riscos de situaes permanentes de desequilbrio global.
Acompanhemos Adam Smith:
Aquilo que anualmente poupado to regularmente consumido
como o que anualmente despendido, e praticamente tambm no
mesmo perodo; simplesmente consumido por um diferente conjunto
de pessoas. A parte do seu rendimento anualmente despendida por um
indivduo rico , na maior parte dos casos, consumida por convidados
ociosos e por criados que nada deixam atrs de si em troca do que
consomem. Quanto parte que anualmente poupa, dado que, com vista
obteno de um lucro, imediatamente aplicada como capital, de
igual modo consumida, e praticamente durante o mesmo perodo, mas
por um conjunto diferente de pessoas, trabalhadores do campo,
operrios e artfices, que reproduzem, com um lucro, o valor do
respectivo consumo anual.
37
8 - Em sede da teoria da distribuio do rendimento, embora faa apelo a
determinadas leis naturais e se proponha analisar as leis segundo as quais o
produto se distribui naturalmente entre as diferentes classes de cidados, Adam
36
Cfr. Riqueza das Naes, I, 604/605.
37
Cfr. Riqueza das Naes, I, 593.
28
29
Smith assume com suficiente clareza o carcter conflituante dos interesses dos
titulares das vrias categorias de rendimento, na medida em que cada uma
dessas categorias de rendimento (salrios, rendas e lucros) s pode aumentar
custa da diminuio de outra (ou de outras):
As subidas e descidas dos lucros do capital escreve Adam Smith
38
dependem das mesmas causas que determinam os aumentos e as diminuies
dos salrios do trabalho (...), mas essas causas afectam uns e outros de maneira
muito diferente, pelo que altos salrios do trabalho e altos lucros do capital
so coisas que talvez raramente coexistam, excepto nas circunstncias especiais
das novas colnias.
Mas os princpios de filosofia social de Adam Smith esbatem esta
conflitualidade, para abrirem caminho a um mundo de harmonia, em que todos
os interesses se conciliam.
Todo o homem escreve Smith , desde que no viole as leis da justia,
tem direito a lutar pelos seus interesses como melhor entender e a entrar em
concorrncia, com a sua indstria e capital, com os de qualquer outro homem,
ou ordem de homens.
O autor parte do princpio de que um homem s aplica capital numa
indstria com vista ao lucro, esfora-se continuadamente por encontrar o
emprego mais vantajoso para o capital que detm e no pretende,
normalmente, promover o bem pblico, nem sabe at que ponto o est a fazer.
Apesar disto, Smith acredita que
cada um trabalha, necessariamente, para que o rdito anual da sociedade
seja o maior possvel, (...) guiado por uma mo invisvel a atingir um fim
que no fazia parte das suas intenes. Seria assim, pelo menos, numa
sociedade onde se permitisse que as coisas seguissem o seu curso
natural, onde houvesse liberdade perfeita e onde cada homem fosse
totalmente livre de escolher a ocupao que quisesse e de a mudar
sempre que lhe aprouvesse. Nesta sociedade ideal, o seu prprio
interesse levaria cada homem a procurar os empregos vantajosos e a
evitar os desfavorveis. Cada indivduo, conclui Smith, ao tentar
satisfazer o seu prprio interesse, promove, frequentemente, de um
modo mais eficaz, o interesse da sociedade, do que quando realmente o
pretende fazer. (...) Na verdade, aquilo que [cada indivduo] tem em
vista o seu prprio benefcio e no o da sociedade. Mas o juzo da sua
prpria vantagem leva-o, naturalmente ou melhor, necessariamente ,
a preferir o emprego mais vantajoso para a sociedade.
39
38
Cfr. Riqueza das Naes, I, 211-219.
39
Cfr. Riqueza das Naes, I, 231/232, 284 e 757/758.
29
30
Esta confiana no individualismo, nas virtudes do sistema de liberdade
natural, radica numa antropologia optimista que representa a ultrapassagem do
pessimismo caracterstico da filosofia social de Hobbes.
Segundo Hobbes, a natureza humana essencialmente egosta. E o
egosmo transformaria o homem no inimigo do homem (homo homini lupus),
caracterizando-se o estado de natureza como um estado de guerra permanente
(bellum ommium contra omnes). A antropologia pessimista que informa o selfish
system hobbesiano arrasta a concluso de que a sociedade civil no pode
constituir-se sem a interveno coerciva do estado, a qual implica que os
homens renunciem sua prpria liberdade. Da o leviathan.
Ao irracionalismo deste estado natural de guerra vem Locke contrapor
uma lei racional, eventualmente inspirada pela natureza divina, que o leva a
uma viso antropolgica optimista. No estado de natureza, o homem
essencialmente bom. A harmonia s no se realiza porque a natureza fsica
avara, o que implica a afirmao da desigualdade natural como a outra
caracterstica do estado de natureza.
Porque se trata de desigualdade natural, o estado no pode pretender
super-la. Em Locke o estado j no configurado como a fonte da sociedade
civil, mas tambm no se lhe reconhecem condies para resolver o conflito
social inerente a uma sociedade que assenta na liberdade de cada indivduo.
Liberdade que consiste essencialmente na liberdade de adquirir uma
propriedade com base no seu trabalho, propriedade que o estado (o estado
liberal) deve garantir.
Foi David Hume o primeiro autor que conseguiu escapar ideia de que a
conflitualidade social inerente a uma sociedade que se rege pelo princpio do
egosmo.
Colocando-se no plano da filosofia moral, Hume renunciou a uma crtica
racionalista do pessimismo de Hobbes, preferindo caracterizar os homens por
um sentimento, oposto ao egosmo, que leva cada um a desejar o que til ou
agradvel para os outros. David Hume designa-o por simpatia, benevolncia ou
sentido de humanidade.
A simpatia surge, deste modo, como a fonte dos juzos morais (juzos de
aprovao para a virtude, para tudo o que til do ponto de vista individual e
social), e tambm como a origem de um comportamento virtuoso, na medida em
que a simpatia conduz cada indivduo a agir para o bem dos outros como a
melhor forma de conseguir um sistema de relaes sociais que seja mais
vantajoso para si prprio. Na sntese de Napoleoni,
enquanto a filosofia do egosmo no permite ao indivduo reconhecer
qualquer outra utilidade imediata, Hume avana at chegar a
reconhecer nos homens um sentimento de humanidade suficiente para que
30
31
cada um seja capaz de reconhecer no apenas a sua prpria utilidade,
mas tambm a utilidade dos outros .
40
Assim autonomizada a dimenso moral, a simpatia permite harmonizar,
nesta esfera da vida humana, o interesse individual e o interesse colectivo. Mas
ficam de fora outras dimenses da vida humana em que o egosmo pode
continuar como fonte de conflitos. Permanecia, ao menos implicitamente, o
reconhecimento do dualismo psicolgico como caracterstica dos homens.
A ultrapassagem deste dualismo foi sugerida pela primeira vez na famosa
Fbula das Abelhas, de Bernard Mandeville (The Fable of the Bees: or Private Vices,
Public Benefits, 1714). Nas palavras do prprio, esta a tese de Mandeville:
41
Orgulho-me de ter demonstrado que no so nem as qualidades de
bondade ou as afeies delicadas naturais ao homem, nem as reais
virtudes que ele capaz de adquirir pela razo e pela abnegao, que
constituem o fundamento da sociedade; mas que aquilo a que no
mundo chamamos mal, tanto moral como natural, o grande princpio
que faz de ns criaturas sociveis, a base slida, a vida e o apoio de
todas as actividades e de todos os empregos, sem excepo; que nele
que devemos procurar a verdadeira origem de todas as artes e de todas
as cincias, e que, no momento em que o mal desaparea, a sociedade se
deteriora, se no se dissolver inteiramente.
Adam Smith critica Mandeville por considerar como vcios certas
qualidades (ou paixes) que, em seu juzo, o no so. Em termos tais enfatiza
Smith que at uma camisa lavada ou uma habitao confortvel so um
vcio. (...) graas a este sofisma que chega sua concluso predilecta de que
os vcios privados constituem virtudes pblicas. No entanto, Smith no deixou
de reconhecer que o sistema do Dr. Mandeville estava, em alguns casos, muito
prximo da verdade.
42
Compreende-se, por isso, a sintonia de certas passagens
de Riqueza das Naes com a tese de Mandeville.
Dois trechos para o comprovar:
O esforo natural de cada indivduo para melhorar a sua prpria
condio constitui, quando lhe permitido exercer-se com liberdade e
segurana, um princpio to poderoso que, sozinho e sem ajuda, no
s capaz de levar a sociedade riqueza e prosperidade, mas tambm de
40
Cfr. C. NAPOLEONI, Fisiocracia..., cit., 34.
41
Cfr. Riqueza das Naes (Introduo do Editor), I, 61/62.
42
Cfr. Cfr. Riqueza das Naes (Introduo do Editor), I, 58/59.
31
32
ultrapassar centenas de obstculos inoportunos que a insensatez das leis
humanas demasiadas vezes ope sua actividade .
43
Numa sociedade civilizada o homem necessita constantemente da
ajuda e cooperao de uma imensidade de pessoas, e a sua vida mal
chega para lhe permitir conquistar a amizade de um pequeno nmero.
Em quase todas as outras espcies animais, cada indivduo, ao atingir a
maturidade, inteiramente independente, e, no seu estado normal, no
necessita da ajuda de qualquer outro ser vigente. Mas o homem
necessita quase constantemente do auxlio dos seus congneres e seria
vo esperar obt-lo somente da sua bondade. Ter maior probabilidade
de alcanar o que deseja se conseguir interessar o egosmo deles a seu
favor e convenc-los de que tero vantagem em fazer aquilo que ele
deles pretende. Quem quer que prope a outro um acordo de qualquer
espcie, prope-se conseguir isso. D-me isso, que eu quero, e ters isto,
que tu queres, o significado de todas as propostas desse gnero; e
por esta forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos
favores e servios de que necessitamos. No da bondade do homem do
talho, do cervejeiro ou do padeiro que podemos esperar o nosso jantar, mas da
considerao em que eles tm o seu prprio interesse. Apelamos, no para a sua
humanidade, mas para o egosmo, e nunca lhes falamos das nossas necessidades,
mas das vantagens deles. Ningum, a no ser um mendigo, se permite
depender essencialmente da bondade dos seus concidados. At mesmo
um mendigo no depende inteiramente dela .
44
Verdadeiramente, a tese contida no sistema de Mandeville pode
reconduzir-se ideia de que impossvel prescindir em absoluto da presena e
das consequncias do mbil egosta no comportamento dos homens em
sociedade. Nestes termos, a ultrapassagem do dualismo psicolgico acima
referido s poderia conseguir-se atribuindo ao egosmo um papel socialmente
positivo. este o sentido da construo smithiana da mo invisvel, ao arrepio do
preconceito largamente difundido no sculo XVIII, segundo o qual toda a aco
motivada pelo interesse privado , por isso mesmo, anti-social.
45
Adam Smith comea por aceitar a concepo de Hume que faz assentar o
fundamento da moral (da virtude) na utilidade simultaneamente individual e
social da aco dos homens e que faz da simpatia a origem do juzo moral e do
comportamento moral. Depois, tal como David Hume autonomizara a esfera
moral, Adam Smith autonomiza a esfera da actividade econmica e sustenta
que, nesta dimenso do comportamento humano em que se verifica a
43
Cfr. Riqueza da Naes, II, 68.
44
Cfr. Riqueza das Naes, I, 94/95 (sublinhado nosso).
45
Cfr. M. DOBB, Teorias..., cit., 55; C. NAPOLEONI, Fisiocracia..., cit., 36/37 e M. BLAUG,
Economic Theory..., cit., 59-65.
32
33
formao e o desenvolvimento da riqueza , o mbil egosta justifica-se nos
mesmos termos que a simpatia na esfera moral. Na esfera econmica, a
utilidade dos particulares concilia-se com a utilidade da sociedade na medida
em que cada um, desde que no viole as leis da justia, prossiga o seu prprio
objectivo de obter o mximo lucro e o mximo de segurana em concorrncia,
com a sua indstria e capital, com os de qualquer outro homem, ou ordem de
homens.
Na esfera da actividade econmica, os vcios privados de que falava
Mandeville no so, afinal, vcios. O egosmo surge, aqui, como um elemento
positivo, desde que a prossecuo do interesse de cada um no impea os
outros de prosseguir igualmente o seu prprio interesse. Na sntese de Carlos
Laranjeiro, Riqueza das Naes representa, neste plano, a tentativa de prova de
que o self-interest est para a economia como a simpatia est para a moral. O
conjunto social torna-se harmonioso, j que ambos permitem obter a
maximizao individual e colectiva.
46
Vale a pena atentar de novo nestes dois trechos muito conhecidos de
Riqueza das Naes:
Cada indivduo esfora-se continuadamente por encontrar o emprego
mais vantajoso para qualquer que seja o capital que detm. Na verdade,
aquilo que tem em vista o seu prprio benefcio e no o da sociedade.
Mas o juzo da sua prpria vantagem leva-o, naturalmente , melhor,
necessariamente , a preferir o emprego mais vantajoso para a
sociedade.
Cada um trabalha, necessariamente, para que o rdito da sociedade
seja o maior possvel. Na realidade, ele no pretende, normalmente,
promover o bem pblico, nem sabe at que ponto o est a fazer. (...) Ao
dirigir essa indstria, de modo que a sua produo adquira o mximo
valor, s est a pensar no seu prprio ganho, e, neste como em muitos
outros casos, est a ser guiado por uma mo invisvel a atingir um fim
que no fazia parte das suas intenes nem nunca ser muito mau para
a sociedade que ele no fizesse parte das suas intenes. Ao tentar
satisfazer o seu prprio interesse, promove, frequentemente, de modo
mais eficaz, o interesse da sociedade, do que quando realmente o
pretende fazer. Nunca vi nada de bom, feito por aqueles que se
dedicaram ao comrcio pelo bem pblico. Na verdade, no um tipo de
dedicao muito comum entre os mercadores, e no so necessrias
muitas palavras para os dissuadir disso.
47
46
Cfr. C. LARANJEIRO, 68.
47
Cfr. Riqueza das Naes, I, 755,758 (sublinhado nosso).
33
34
9 - Fiel sua filosofia individualista (porventura algo contraditria com a
importncia que atribui diviso do trabalho), Adam Smith sustenta que a vida
econmica decorrer harmoniosamente desde que se deixem as coisas seguir o
seu curso natural.
Mas a verdade que o professor de Glasgow no ignora, como j
salientmos, o carcter conflituante da sociedade em que se insere e revela
mesmo a percepo de que o conflito essencial presente nesta sociedade o que
ope os trabalhadores assalariados e os proprietrios do capital, classes cujos
interesses no so de modo algum idnticos.
Esta diferena de posies (e consequente antagonismo de interesses)
explica-a Smith como consequncia dos diferentes poderes de que dispem, nas
sociedades capitalistas, os patres (por serem proprietrios do capital) e os
operrios (por possuirem apenas a sua fora e habilidade de mos, por no
possuirem o capital suficiente, tanto para comprar as matrias-primas
necessrias ao seu trabalho, como para se manter at ele se achar terminado).
Tudo se reduz ao facto de uma classe de pessoas deter a propriedade do capital
e outra(s) classe(s) estar(em) privada(s) dela.
As relaes sociais no aparecem, pois, na obra de Smith, como relaes
entre indivduos iguais. Ele tem clara conscincia de que sempre que h muita
propriedade, h grande desigualdade, de que por cada homem rico haver,
pelo menos, quinhentos homens pobres, e de que a propriedade de uns
poucos pressupe a indigncia de muitos. E sabe que nas naes civilizadas e
prsperas (...) um grande nmero de pessoas no exerce qualquer actividade e
muitas delas consomem o produto de dez vezes, frequentemente de cem vezes,
mais trabalho do que aqueles que as exercem.
48
Nestas condies, admitir Adam Smith uma qualquer interveno do
estado com fins correctivos?
De modo nenhum, porque ferir os interesses de uma classe de cidados,
por mais ligeiramente que possa ser, sem outro objectivo que no seja o de
favorecer os de qualquer outra classe, uma coisa evidentemente contrria
quela justia, quela igualdade de proteco que o soberano deve,
indistintamente, aos seus sbditos de todas as classes.
Como bom liberal, Adam Smith defende que o mximo de utilidade social
se consegue quando a vida econmica decorre naturalmente, prosseguindo
cada um o seu prprio interesse. Segundo esta concepo, a economia
(separada do estado) funciona de acordo com as suas prprias leis, leis naturais,
leis de validade absoluta e universal: a ordem natural harmoniza todos os interesses
a partir da natural actuao de cada um no sentido de obter o mximo de
48
Cfr. Riqueza das Naes, I, 70 e 316.
34
35
satisfao com o mnimo de esforo.
49
Deste fetichismo naturalstico (Oskar
Lange) derivam os economistas clssicos duas consideraes fundamentais:
a) por um lado, uma atitude conformista perante as ocorrncias da vida
econmica: elas decorrem das leis da natureza e o que natural justo (a lei moral
identifica-se com a lei natural);
b) por outro lado, uma atitude de condenao de toda e qualquer
interveno do estado na vida econmica. Em 1 lugar, porque a vida
econmica e a ordem social so consideradas partes integrantes da ordem
natural, regulada por leis que exprimem princpios eternos e universais da
natureza humana, leis to rigorosas e inalterveis como as leis da fsica (concepo
mecanicista ou fisicista, de raiz newtoniana); em 2 lugar, porque defendem que o
estado, como mquina essencialmente poltica, , pelas suas prprias funes,
incompetente para a actuao econmica (Smith: no h dois caracteres que
paream mais contrrios do que os do comerciante e do governo.).
A vida econmica, assim entendida, o fundamento da sociedade civil, o
princpio da prpria existncia do estado, cujas funes devem restringir-se ao
mnimo compatvel com a sua capacidade para garantir a cada um e a todos, em
condies de plena liberdade, o direito de lutar pelos seus interesses como
melhor entender.
Adam Smith considerado o pai da doutrina do estado mnimo e muitas
vezes invocado, nesta qualidade paternal, para justificar as propostas dos
neoliberais dos nossos dias.
claro o ponto de vista de Smith a este respeito:
O soberano escreve ele fica totalmente liberto (...) do dever de
superintender o trabalho das pessoas privadas e de o dirigir para as
actividades mais necessrias sociedade. Segundo o sistema de
liberdade natural, o soberano tem apenas trs deveres a cumprir. Trs
deveres de grande importncia, na verdade, mas simples e perceptveis
para o senso comum: em primeiro lugar, o dever de proteger a
sociedade da violncia e das invases de outras sociedades
independentes; em segundo lugar, o dever de proteger, tanto quanto
possvel, todos os membros da sociedade da injustia ou opresso de
qualquer outro membro, ou o dever de estabelecer uma administrao
da justia; e, em terceiro lugar, o dever de criar e preservar certos
49
Apesar de aceitar a fatalidade das leis naturais, Smith contraria algumas das ideias correntes
no seu tempo ao defender que, se no fossem estas leis, seria perfeitamente razovel,
socialmente justo e economicamente vantajoso que os salrios fossem superiores ao mnimo
histrico de subsistncia. Por estas e outras razes, cremos que tem razo Fernando ARAJO
quando se refere ao ardor republicano e igualitrio que anima a obra do filsofo escocs (ob.
cit., 1239), que, por certo, no daria a todos os que, ainda hoje, procuram alicerar a
produtividade em polticas e prticas de salrios baixos (cfr. Riqueza das Naes, I, 196-198, 200-
203 e 228/229).
35
36
servios pblicos e certas instituies pblicas que nunca podero ser
criadas ou preservadas no interesse de um indivduo ou de um pequeno
nmero de indivduos, j que o lucro jamais reembolsaria a despesa de
qualquer indivduo ou pequeno nmero de indivduos, embora possa,
muitas vezes, fazer mais do que reembolsar esse lucro a uma grande
sociedade .
50
Mas cremos que esta tese de Smith tem em vista as estruturas do poder
poltico do estado absoluto, ao servio de interesses de tipo feudal, que o
filsofo criticou por ineficientes e improdutivas: na maior parte dos pases, a
totalidade ou a quase totalidade das receitas pblicas empregada na
manuteno de indivduos no produtivos. Entre estes indivduos no
produtivos inclui Adam Smith
muitas das mais respeitveis classes sociais, (...) o soberano, por
exemplo, bem como todos os funcionrios tanto da justia como da
guerra que servem sob as suas ordens, todo o exrcito e toda a
marinha, todos os que compem uma corte numerosa e esplndida,
uma grande instituio eclesistica, armadas e exrcitos poderosos que
em tempos de paz nada produzem e em tempos de guerra nada
adquirem que possa compensar o dispndio incorrido com a sua
manuteno, ainda que s durante o perodo de durao da guerra.
Toda essa gente remata Adam Smith , dado que nada produz, tem
de ser mantida pelo produto do trabalho de outros homens.
51
este estado parasita e perdulrio que Adam Smith pretende reduzir a
estado mnimo. Com esta justificao:
quando se multiplicam [essa gente e essas estruturas] para alm do
necessrio, podem, num ano, consumir uma parcela to elevada
daquele produto [o produto do trabalho de outros homens] que a parte
restante no baste para manter os trabalhadores produtivos, necessrios
reproduo do ano seguinte. Assim, a produo do ano seguinte ser
inferior desse ano e, se se mantiver o mesmo desconcerto, a do ano a
seguir reduzir-se- ainda mais. Pode acontecer que esses indivduos
improdutivos, que deviam ser mantidos apenas por uma parte do
rendimento disponvel do conjunto das pessoas, cheguem a consumir
uma parcela to grande da totalidade do rendimento, obrigando to
elevado nmero de indivduos a consumir o respectivo capital, ou seja,
os fundos destinados manuteno do trabalho produtivo, que a
frugalidade e o adequado emprego dos capitais por parte dos
50
Cfr. Riqueza das Naes, II, 284/285.
51
Cfr. Riqueza das Naes, I, 582 e 599.
36
37
indivduos no seja suficiente para compensar a perda e degradao do
produto originadas por esse violento e forado abuso .
52
Esta apreciao de Adam Smith poder aplicar-se ainda hoje a muitos
estados dominados por oligarquias corruptas e por ditadores sem escrpulos,
mas no sero inteiramente adequadas situao dos estados democrticos em
pases de economias complexas e desenvolvidas.
Por outro lado, de salientar a preocupao de Smith em responsabilizar o
estado por uma srie de servios pblicos, deixando claro que dever do
soberano:
a criao e a manuteno daqueles servios e instituies que, embora
possam ser altamente benficos para uma sociedade, so, todavia, de uma
natureza tal que o lucro jamais poderia compensar a despesa para qualquer
indivduo ou pequeno nmero de indivduos, no se podendo, portanto,
esperar a sua criao e manuteno por parte de qualquer indivduo ou
pequeno nmero de indivduos. A concretizao deste dever exige despesas de
variadssimos graus nos diferentes perodos da sociedade.
Depois das instituies pblicas e dos servios pblicos necessrios para a
defesa da sociedade e para a administrao da justia acrescenta Smith os
outros servios e instituies deste tipo so fundamentalmente aqueles criados
com vista a facilitar o comrcio da sociedade e a promover a instruo do
povo. E acrescenta, num toque de grande modernidade: As instituies de
instruo so de dois tipos: as que visam a instruo da juventude e as que
visam a de pessoas de todas as idades.
53
A verdade que, entre os neoliberais de hoje, no falta quem considere
demasiado permissivo e perigoso o critrio de Smith para delimitar a aco do
estado:
Quase no h nenhuma actividade escreveu Milton Friedman em
1976 que no se tenha considerado adequada interveno do estado
de acordo com os argumentos de Smith. fcil afirmar, como o faz Smith
mais de uma vez, que h efeitos externos que colocam uma actividade ou
outra na esfera do interesse pblico, e no na esfera do interesse de
algum indivduo ou algum nmero pequeno de indivduos. No h
critrios objectivos amplamente aceites para avaliar tais asseres, para
medir a grandeza dos efeitos externos, para identificar os efeitos externos
das aces governamentais e compar-los com os efeitos externos que se
produziriam se se deixassem as coisas em mos privadas. A anlise
52
Cfr. Riqueza das Naes, I, 582 e 599/600.
53
Cfr. Riqueza das Naes, II, 333.
37
38
superficialmente cientfica de custo-benefcio erigida com base em Smith
transformou-se numa formidvel Caixa de Pandora.
54
Escrevendo quando o estado capitalista dava os primeiros passos, a anlise
de Adam Smith sobre a origem e a evoluo do estado assenta numa
interpretao histrica. Certos trechos de Riqueza das Naes lembram alguns
trabalhos de Engels sobre este mesmo tema.
Como a avareza e a ambio nos ricos e o dio ao trabalho e a tendncia
para a preguia nos pobres escreve ele constituem as paixes que
predispem ao ataque propriedade, como a propriedade dos ricos provoca
a indignao dos pobres que muitas vezes so levados pela necessidade e
influenciados pela inveja a apropriar-se dos seus bens, compreende-se a
necessidade do estabelecimento de um governo civil e compreende-se que
uma das funes do estado seja a da administrao exacta da justia, uma vez
que s com a proteco do magistrado civil que o dono dessa valiosa
propriedade, adquirida com o trabalho de muitos anos ou, talvez, de muitas
geraes, poder dormir em segurana. A aquisio de propriedades valiosas
e vastas conclui Adam Smith exige, necessariamente, o estabelecimento de
um governo civil. Quando no h propriedades ou, pelo menos, propriedades
que excedam os dois ou trs dias de trabalho, o governo civil no ser to
necessrio.
55
Particularmente elucidativos do que se diz atrs so os trechos seguintes:
Como, entre caadores, raramente existe a propriedade ou, pelo menos,
propriedades superiores a dois ou trs dias de trabalho, raramente existe
qualquer magistrado, ou qualquer administrao regular da justia.
Escreve mais frente Smith:
na era dos pastores, no segundo perodo da sociedade, que surge
pela primeira vez a desigualdade de fortuna, introduzindo no seio dos
homens um grau de autoridade e subordinao anteriormente
impossvel de existir. Introduz, assim, em certa medida, esse governo
civil indispensvel sua prpria manuteno e parece t-lo feito
naturalmente, independentemente, mesmo, da verificao dessa
necessidade. Esta verificao vai acabar, sem dvida, por contribuir
muito para a manuteno e consolidao dessa autoridade e
subordinao. Os ricos especialmente esto necessariamente
interessados em manter esse estado de coisas, nico capaz de lhes
assegurar os seus prprios benefcios. Os menos ricos unem-se na
defesa dos mais ricos no que se refere sua propriedade para que, por
54
Apud G. FEIWEL, Equilibrium business cycle theory and the real world, em Economia, vol.
8, n 2, Maio/1984, 146.
55
Cfr. Riqueza das Naes, II, 316.
38
39
sua vez, estes se unam na defesa da propriedade daqueles. Todos os
pastores e criadores menores sentem que a segurana dos seus prprios
rebanhos dependem da segurana dos rebanhos dos pastores e
criadores mais prsperos, que a manuteno da sua menor autoridade
depende da manuteno da autoridade superior e que da sua
subordinao depende o poder de, por seu turno, subordinar outros que
lhe so inferiores. Constituem uma espcie de aristocracia que tem todo
o interesse em defender a propriedade e em apoiar a autoridade do seu
pequeno soberano a fim de este poder defender a sua prpria
propriedade e apoiar a sua autoridade.
56
Logo a seguir, Adam Smith torna bem clara a sua concepo do estado
enquanto instrumento de defesa dos proprietrios contra aqueles que no
dispem da propriedade do capital. Na esteira de Locke (Civil Government, 94:
o governo no tem qualquer outro objectivo que no seja a preservao da
propriedade), Smith defende que o governo civil, na medida em que
institudo com vista segurana da propriedade, , na realidade, institudo com
vista defesa dos ricos em prejuzo dos pobres, ou daqueles que possuem
alguma propriedade em detrimento daqueles que nada possuem.
57
So afirmaes como esta que justificam a tese de Mark Blaug segundo a
qual, nesta Parte II do Captulo I do Livro V de Riqueza das Naes, Smith
apresenta uma teoria marxista do estado.
58
E talvez esta leitura permita
compreender melhor a coerncia da rejeio, por parte de Smith, de qualquer
interveno do estado com vista correco das injustias: exactamente porque
sabe qual o verdadeiro papel do estado e aceita que ele deve cumprir a sua
funo, que a defesa dos ricos em prejuzo dos pobres, ou daqueles que tm
alguma propriedade em detrimento daqueles que nada possuem.
Por outro lado, como j vimos, resulta dos seus escritos a ideia (comum
aos autores da escola clssica) de que a propriedade (a acumulao do capital)
o fruto da frugalidade e da prudncia de alguns, adquirida com o trabalho de
muitos anos ou, talvez, de muitas geraes.
56
Cfr. Riqueza das Naes, II, 315 e 321/322.
57
Cfr. Riqueza das Naes, II, 322.
58
Cfr. M. BLAUG, Economic Theory...., 61. tambm de Mark Blaug este comentrio: Quando
lemos as suas anlises sobre a evoluo do governo civil, da justia, das foras armadas e da
famlia, torna-se evidente que ele tinha ideias claras sobre a natureza do processo histrico.
Como outros autores escoceses da poca, v.g. Adam Ferguson, John Millar, Willam Robertson e
mesmo David Hume, ele expe uma filosofia da histria que atribui uma importncia
fundamental natureza e distribuio da propriedade. No exagerado descrever estes
homens como os precursores da concepo materialista da histria.
39
40
Adam Smith pensa, alm disso, que todos podem ser proprietrios,
mesmo o mais pobre dos homens, se for frugal e industrioso. Dir-se-ia que o
dio ao trabalho e a tendncia para a preguia e para o cio nos pobres que
explicam as diferenas sociais, que no seriam, alis, to gritantes como
poderiam sugerir certas passagens de Riqueza das Naes.
O melhor lermos o que escreve o prprio Adam Smith:
Nas naes civilizadas e prsperas, embora um grande nmero de
pessoas no exera qualquer actividade e muitas delas consumam o
produto de dez vezes, frequentemente de cem vezes, mais trabalho do
que aquelas que as exercem, ainda assim o produto de todo o trabalho
da sociedade to grande que, em geral, se encontram abundantemente
providas, e um trabalhador, ainda que da classe mais baixa e mais
pobre, se for frugal e industrioso, poder usufruir de uma quota-parte
maior de bens necessrios vida e ao conforto do que qualquer
selvagem .
59
ainda Smith quem escreve:
O estmago do rico est em proporo com os seus desejos e no
comporta mais que o do aldeo grosseiro. (...)
Uma mo invisvel parece for-los [aos ricos] a concorrer para a mesma
distribuio das coisas necessrias vida que se teria verificado se a
terra tivesse sido dada em igual poro a cada um dos seus habitantes; e
assim, sem ter essa inteno, sem mesmo o saber, o rico serve o interesse
social e a multiplicao da espcie humana. A Providncia,
distribuindo, por assim dizer, a terra entre um pequeno nmero de
homens ricos, no abandonou aqueles a quem parece ter-se esquecido
de atribuir um lote, e eles tm a sua parte em tudo o que ela produz. (...)
Quanto ao que constitui a verdadeira felicidade, no so inferiores em
nada queles que parecem colocados acima deles. Todos os escales da
sociedade esto ao mesmo nvel pelo que respeita ao bem-estar do
corpo e serenidade da alma, e o mendigo que se aquece ao sol ao
longo de uma sebe possui ordinariamente aquela tranquilidade que os
reis sempre perseguem
60
.[sublinhado nosso]
Dominado pela viso fisiocrtica de uma sociedade que funciona
perfeitamente por si, como um organismo natural na qual no deve tocar-se
para a no descontrolar , Smith alicera a sua filosofia social em dois valores
fundamentais: a confiana no sistema de liberdade natural e a aceitao da justia
realizada pela mo invisvel. E no se comove com as desigualdades: aos pobres
59
Cfr. Riqueza das Naes, I, 70/71.
60
Trecho da Theory of Moral Sentiments, apud H. DENIS, Histoire..., cit., 191.
40
41
pertence a serena e tranquila felicidade de poderem aquecer-se ao sol ao longo
de uma sebe, felicidade que os reis sempre perseguem...
10- Referncias
ARAJO, Fernando. Adam Smith O conceito mecanicista de liberdade Coimbra:
Almedina, , 2001.
BLAUG, Mark. Histria do Pensamento Econmico. vol. I.[S.I.: s.n.], 1989.
DENIS, Henri. Histoire de la Pense conomique. 2 ed. Paris: PUF, 1977.
DOBB, Maurice. Teorias do Valor e Distribuio desde Adam Smith. Lisboa:
Presena, 1977.
LARANJEIRO, Carlos. Capital, juro e lucro. Boletim de Cincias Econmicas.
Coimbra, 1985.
MARX, Karl. Grundrisse, trad. franc.,vol. 1 (Chapitre de lArgent), Union
Gnrale dditions, ditions Anthropos, Col. 10/18, Paris, 1968.
_____ O Capital. Vol. II. Lisboa: Avante, 1983.
MEEK, Ronald. Economia e ideologia. Barcelona: Ariel, 1972.
_____ Studies in the Labour Theory of Value. 2 ed. Londres: Lawrence and
Wishart, 1979.
NAPOLEONI, Claudio. Fisiocracia, Smith. Barcelona: Oikos-Tau, 1974;
_____. O valor na cincia econmica. Lisboa : Ed. Presena, 1980;
_____. Discorso sulleconomia politica. Turim : Boringhieri, 1985.
SOARES, Rogrio. Direito Pblico e Sociedade Tcnica. Coimbra : Atlntida, 1969.
SCHUMPETER, Joseph. Historia del Analisis Econmico. Barcelona: Ed. Ariel,
1971.
SMITH, Adam. Riqueza das Naes. Lisboa : Ed. Fundao Calouste Gulbenkian,
1981 e 1983. 2 vols.
41
Você também pode gostar
- Mente Inabalável - Susan Anderson - Z Lib - OrgDocumento95 páginasMente Inabalável - Susan Anderson - Z Lib - OrgCarlos Eduardo Carvalho100% (4)
- Bibliografia Adam SmithDocumento11 páginasBibliografia Adam SmithJosias MacedoAinda não há avaliações
- Adam Smit1Documento9 páginasAdam Smit1Dji AlexAinda não há avaliações
- Meu Marido Misterioso - BinDocumento1.423 páginasMeu Marido Misterioso - BinZelia Gomacha100% (1)
- Apostila - Sociologia Do TrabalhoDocumento27 páginasApostila - Sociologia Do TrabalhoRitinha BispoAinda não há avaliações
- Prova 1 Concurso AppggDocumento20 páginasProva 1 Concurso AppggrafaelnevesAinda não há avaliações
- Mike MentzerDocumento8 páginasMike Mentzerjaison lanski100% (1)
- Testes de RHDocumento12 páginasTestes de RHjaqbarbosa100% (3)
- Resumo Código de Ética PsicologiaDocumento6 páginasResumo Código de Ética PsicologiaWesley Silva0% (1)
- A CIDADE de Martin CrimpDocumento74 páginasA CIDADE de Martin CrimpUn Cómico De RemateAinda não há avaliações
- A Filosofia Social de Adam SmithDocumento48 páginasA Filosofia Social de Adam SmithpaulabenagliaAinda não há avaliações
- Adam Smith - A Riqueza Das NaçõesDocumento1 páginaAdam Smith - A Riqueza Das NaçõesLuiza SarrapioAinda não há avaliações
- Filosofia Social de Adam Smith 2024Documento13 páginasFilosofia Social de Adam Smith 2024CleAinda não há avaliações
- 1596-Texto Do Artigo-6818-1-10-20120719Documento18 páginas1596-Texto Do Artigo-6818-1-10-20120719sad asdasdAinda não há avaliações
- 1596-Texto Do Artigo-6818-1-10-20120719Documento18 páginas1596-Texto Do Artigo-6818-1-10-20120719sad asdasdAinda não há avaliações
- Teoria Neoclássica e Clássica ResumoDocumento10 páginasTeoria Neoclássica e Clássica ResumoBelizaria FátimaAinda não há avaliações
- Trabalho Concreto e AbstratoDocumento23 páginasTrabalho Concreto e AbstratoAlessandro MeloAinda não há avaliações
- Resumo Sobre Gestão Organizacional e EscolarDocumento5 páginasResumo Sobre Gestão Organizacional e EscolarAureliamesquita100% (3)
- Trabalho, Emprego e EmpregabilidadeDocumento34 páginasTrabalho, Emprego e EmpregabilidadeWigand JuniorAinda não há avaliações
- Teoria Clássica e Neoclássica 2Documento5 páginasTeoria Clássica e Neoclássica 2Belizaria FátimaAinda não há avaliações
- Filosofia PolíticaDocumento4 páginasFilosofia PolíticaPedro FaberAinda não há avaliações
- Fund. Econ. e Adm.Documento32 páginasFund. Econ. e Adm.Jessica MarianoAinda não há avaliações
- Mais-Valia Absoluta e RelativaDocumento5 páginasMais-Valia Absoluta e RelativaPaulo FernandesAinda não há avaliações
- MARX - Uma Introdução - Jorge GrespanDocumento5 páginasMARX - Uma Introdução - Jorge GrespanHannah MaressaAinda não há avaliações
- Atividade Capítulo 9 - Rafael FrancoDocumento4 páginasAtividade Capítulo 9 - Rafael FrancoRafael OliveiraAinda não há avaliações
- MarxDocumento13 páginasMarxbeatrizmendoncaa93Ainda não há avaliações
- Salário Preço e Lucro FichamentoDocumento5 páginasSalário Preço e Lucro FichamentoRuy Cavalcante OliveiraAinda não há avaliações
- Adam Smith: Aluno: Antônio José Gomes Francisco JuniorDocumento7 páginasAdam Smith: Aluno: Antônio José Gomes Francisco JuniorMariana GranjaAinda não há avaliações
- Slides e Resumos Adam Smith e David RicardoDocumento10 páginasSlides e Resumos Adam Smith e David RicardoKarina DenoAinda não há avaliações
- Aula 2 - Trabalho e Divisão Do TrabalhoDocumento25 páginasAula 2 - Trabalho e Divisão Do TrabalhovictorAinda não há avaliações
- Resumo Adam SmithDocumento4 páginasResumo Adam SmithLara LetíciaAinda não há avaliações
- Adam Smith e Os Fundamentos Do 1Documento16 páginasAdam Smith e Os Fundamentos Do 1Edson Vando Alves Da Silva JuniorAinda não há avaliações
- Introdução Ao Capital de Karl Marx.Documento22 páginasIntrodução Ao Capital de Karl Marx.Michael GarciaAinda não há avaliações
- LIVRO ADMINISTRAÇÃO Elementos... 2 Edição Cap. 1Documento31 páginasLIVRO ADMINISTRAÇÃO Elementos... 2 Edição Cap. 1Pedro FerreiraAinda não há avaliações
- Resenha Dos Três Primeiros Capítulos de A Riqueza Das NaçõesDocumento9 páginasResenha Dos Três Primeiros Capítulos de A Riqueza Das NaçõesPablo FerreiraAinda não há avaliações
- Aula IIIDocumento9 páginasAula IIINatalia DinizAinda não há avaliações
- Trabalho em Marx - JPNDocumento28 páginasTrabalho em Marx - JPNRoselaine Navarro BarrinhaAinda não há avaliações
- Algumas Consideraã Ã - Es Teã"ricas Sobre o Trabalho PDFDocumento7 páginasAlgumas Consideraã Ã - Es Teã"ricas Sobre o Trabalho PDFRonSouzaAinda não há avaliações
- Trabalho KeliandraDocumento13 páginasTrabalho KeliandraAmaro JosemarAinda não há avaliações
- A Escola Clássica e A NeoclássicaDocumento3 páginasA Escola Clássica e A NeoclássicaJardélia Damasceno100% (2)
- Capa - UESC (Padrão)Documento10 páginasCapa - UESC (Padrão)lucas sousaAinda não há avaliações
- Teoria MarxistaDocumento10 páginasTeoria MarxistaRichelle Dourado PintoAinda não há avaliações
- Explique o Conceito de Solidariedade Mecânica e Solidariedade OrgânicaDocumento6 páginasExplique o Conceito de Solidariedade Mecânica e Solidariedade OrgânicadeniseAinda não há avaliações
- A Socializacao Da Producao Capitalist ADocumento7 páginasA Socializacao Da Producao Capitalist ABreno GasparAinda não há avaliações
- Produção e DistribuiçãoDocumento11 páginasProdução e DistribuiçãoLulava SambulaAinda não há avaliações
- Trabalho Na Sociedade Capitalista2Documento5 páginasTrabalho Na Sociedade Capitalista2Felipe RodriguesAinda não há avaliações
- Capitulo 2Documento21 páginasCapitulo 2Juma AbudalaAinda não há avaliações
- Aula Cap 11 e 12Documento6 páginasAula Cap 11 e 12Wenderson SantanaAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido de SociologiaDocumento4 páginasEstudo Dirigido de SociologiaSajin guaxinimAinda não há avaliações
- Introdução À Economia - Roteiro 1 - Jaques KerstenetzkyDocumento4 páginasIntrodução À Economia - Roteiro 1 - Jaques KerstenetzkyJoão PedroAinda não há avaliações
- A Economia Política Britânica e SmithDocumento5 páginasA Economia Política Britânica e SmithBenjamim Figueiredo VerasAinda não há avaliações
- Sebenta Direito de Trabalho FDUCDocumento75 páginasSebenta Direito de Trabalho FDUCRushNReadyAinda não há avaliações
- Sociologia Iv Do Trabalho Texto 5 Aron Sociedade IndustrialDocumento13 páginasSociologia Iv Do Trabalho Texto 5 Aron Sociedade IndustrialGustavo FerreiraAinda não há avaliações
- Resenha - A Riqueza Das Naões, Adam SmithDocumento3 páginasResenha - A Riqueza Das Naões, Adam SmithThiago Favaretto0% (1)
- RESUMO-WPS OfficeDocumento4 páginasRESUMO-WPS OfficeXadreque António AironeAinda não há avaliações
- Sociologia KarlMarxDocumento10 páginasSociologia KarlMarxJulianaAinda não há avaliações
- Smith 01Documento15 páginasSmith 01coimbra coimnbraAinda não há avaliações
- EPE - HUNT - Cap 6Documento19 páginasEPE - HUNT - Cap 6Luiz Paulo Fontes de RezendeAinda não há avaliações
- Gestão Pública - Semana 2 - Liberalismo, Socialismo e IntervencionismoDocumento8 páginasGestão Pública - Semana 2 - Liberalismo, Socialismo e IntervencionismoGaby FajardoAinda não há avaliações
- Aula 09 - A Industrialização e o Desenvolvimento Da Sociedade CapitalistaDocumento15 páginasAula 09 - A Industrialização e o Desenvolvimento Da Sociedade CapitalistapsicarlosmoraisAinda não há avaliações
- Economia Neoclássica e Economia Marxista: Dois Campos Teóricos e As Possibilidades Das Análises de Gênero - Gustavo CodasDocumento7 páginasEconomia Neoclássica e Economia Marxista: Dois Campos Teóricos e As Possibilidades Das Análises de Gênero - Gustavo CodasMaria Júlia MonteroAinda não há avaliações
- Fisiocracia, Smith e RicardoDocumento10 páginasFisiocracia, Smith e RicardoJamaica JamaicaAinda não há avaliações
- Trabalho Eco PolDocumento11 páginasTrabalho Eco PolMarcella AbdallahAinda não há avaliações
- As Interpretações Da Noção de Intelecto Geral Dos GrundrisseDocumento9 páginasAs Interpretações Da Noção de Intelecto Geral Dos GrundrisseEdna Vaz de AndradeAinda não há avaliações
- LIBERALISMO - Adam Smith: Formação de Preços e a Mão invisívelNo EverandLIBERALISMO - Adam Smith: Formação de Preços e a Mão invisívelNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- FormularioTitulo 1003202418383311Documento1 páginaFormularioTitulo 1003202418383311Anderson TavaresAinda não há avaliações
- Concurso FME2023 Professor II HistoriaDocumento17 páginasConcurso FME2023 Professor II HistoriaAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Plano de Aula Sobre Independencia Das AmericasDocumento5 páginasPlano de Aula Sobre Independencia Das AmericasAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Internacional Comunista - V Congreso - Primera ParteDocumento76 páginasInternacional Comunista - V Congreso - Primera ParteAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Berbert, C Reduzindo o Custo de Ser Estrangeiro - O Apoio Do Itamaraty À Internacionalização de Empresas Brasileiras PDFDocumento316 páginasBerbert, C Reduzindo o Custo de Ser Estrangeiro - O Apoio Do Itamaraty À Internacionalização de Empresas Brasileiras PDFAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Paula Nabuco - Imigração Na ChinaDocumento22 páginasPaula Nabuco - Imigração Na ChinaAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Marini, R. (1992) América Latina: Dependencia e Integração - Cap - A CriseTeróricaDocumento23 páginasMarini, R. (1992) América Latina: Dependencia e Integração - Cap - A CriseTeróricaAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Epistemologia Pós-Moderna. Ciro FlamarionDocumento23 páginasEpistemologia Pós-Moderna. Ciro FlamarionAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Resultado Concurso CaxiasDocumento257 páginasResultado Concurso CaxiasAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Plano de Aula 6o Ano - Origem Dos Seres HumanosDocumento1 páginaPlano de Aula 6o Ano - Origem Dos Seres HumanosAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Trabalho Produtivo e Trabalho ImprodutivoDocumento8 páginasTrabalho Produtivo e Trabalho ImprodutivoAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Uma Pessoa Tem No Bolso Moedas de RDocumento5 páginasUma Pessoa Tem No Bolso Moedas de RjairAinda não há avaliações
- CNPJCPF: Cnes UF Cidade Desc. PlanoDocumento2.092 páginasCNPJCPF: Cnes UF Cidade Desc. PlanoAmanda MenezesAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento10 páginasIntroduçãoEdilson MagaiaAinda não há avaliações
- Tecnicas Avancadas de Vendas No Varejo PDFDocumento23 páginasTecnicas Avancadas de Vendas No Varejo PDFmichaelcypriano100% (1)
- Termodinamica CefetDocumento268 páginasTermodinamica CefetvaldirferreiraAinda não há avaliações
- Experimento-2 Miscibilidade e SolubilidadeDocumento9 páginasExperimento-2 Miscibilidade e SolubilidadeJoelson Kalil CoelhoAinda não há avaliações
- Técnicas de Design Gráfico e Comunicação VisualDocumento6 páginasTécnicas de Design Gráfico e Comunicação VisualJulia Frank100% (1)
- ConservacaoPreventiva - Reunião de Vantaa - 21 22SET2000Documento7 páginasConservacaoPreventiva - Reunião de Vantaa - 21 22SET2000Fernando dos Santos AntunesAinda não há avaliações
- 5ºano - Alinhamento Matemática Saeb.2001. Paebes.2022.av Diagnóstica.2023Documento49 páginas5ºano - Alinhamento Matemática Saeb.2001. Paebes.2022.av Diagnóstica.2023clesia h100% (1)
- Língua PortuguesaDocumento209 páginasLíngua PortuguesaFernanda SaraivaAinda não há avaliações
- Test Disc AdpoolDocumento8 páginasTest Disc Adpoollais dimona lojaAinda não há avaliações
- Modelos Dos Documentos PsicológicosDocumento10 páginasModelos Dos Documentos PsicológicosRuan MajesaAinda não há avaliações
- PCMSO - CONDOMINIO SAINT MARCEL AssDocumento9 páginasPCMSO - CONDOMINIO SAINT MARCEL AssPaulo Villas Boas CamaraAinda não há avaliações
- Atlas de PortugalDocumento52 páginasAtlas de Portugalsonia_bento100% (1)
- Exercícios Sobre Análise de Sistemas Baseados em Veículos e Transportadores1Documento3 páginasExercícios Sobre Análise de Sistemas Baseados em Veículos e Transportadores1Kleber Buselatto0% (1)
- LIVE 54 - Funcao Do Primeiro GrauDocumento6 páginasLIVE 54 - Funcao Do Primeiro GrauIsadoraAinda não há avaliações
- 2.3 - A Construção Da DemocraciaDocumento2 páginas2.3 - A Construção Da DemocraciaNuno Neto Ferreira100% (2)
- Aula5 - Value-at-RiskDocumento42 páginasAula5 - Value-at-RiskPaulo Lindgren100% (1)
- Fichamento Construção de Si, Gênero e SexualidadeDocumento3 páginasFichamento Construção de Si, Gênero e SexualidadeTalita MeierAinda não há avaliações
- O Campo Científico Da Administração - Uma Análise A Partir Do Círculo Das Matrizes TeóricasDocumento15 páginasO Campo Científico Da Administração - Uma Análise A Partir Do Círculo Das Matrizes TeóricasketllepAinda não há avaliações
- Aula Sobre Leis Reencarnação e CarmaDocumento6 páginasAula Sobre Leis Reencarnação e CarmaAlexandre MazzettoAinda não há avaliações
- Mangueira ArmtexDocumento2 páginasMangueira ArmtexTECNIQUITELAinda não há avaliações
- Starfinder Selvagem 1 1Documento22 páginasStarfinder Selvagem 1 1Ricardo OkabeAinda não há avaliações