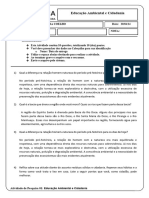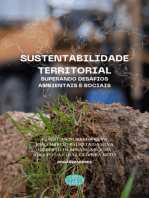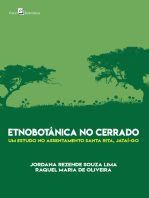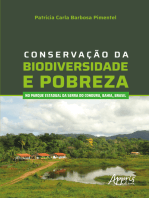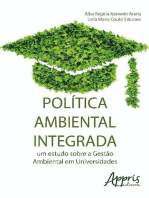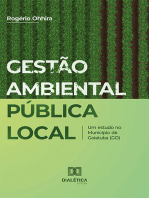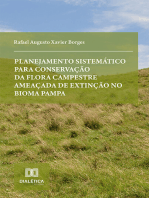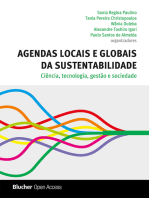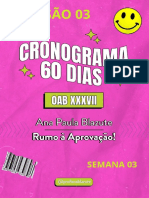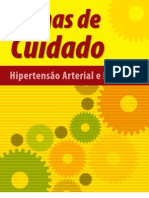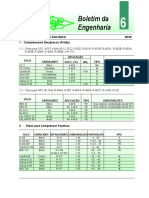Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fragmentação de Habitats
Fragmentação de Habitats
Enviado por
Dany Sant AnnaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Fragmentação de Habitats
Fragmentação de Habitats
Enviado por
Dany Sant AnnaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FRAGMENTAO DE ECOSSISTEMAS
Causas, efeitos sobre a biodiversidade e
recomendaes de polticas pblicas
Equipe Probio Projeto de Conservao e de Utilizao Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira:
Andr Deberdt, Anglica Maria Cunha, Cilulia Maury, Daniela A. S. Oliveira, Danilo Pisani de Souza,
Edileide Silva, Karina Pereira, Laura Rabello, Mrcia Noura Paes, Marinez Costa, Rita de Cssia Cond
e Rosngela Abreu.
Coordenadores de subprojetos
Aldicir Scariot, Deborah Faria, Denise Rambaldi, Edivani Villaron Franceschinelli, Gilda Guimares
Leito, Guarino Colli, Laury Cullen Jnior, Luiz Cludio de Oliveira, Paula Schneider, Paulo Roberto
Castella, Odete Rocha, Raquel Teixeira de Moura, Rui Cerqueira, Stephen F. Ferrari e Yasmine Antonini
Organizadoras
Denise Maral Rambaldi
Daniela Amrica Surez de Oliveira
Superviso editorial
Cilulia Maury
Capa
Angela Ester Duarte
Projeto grco
Marilda Donatelli
Ricardo Cayres
Reviso
Maria Beatriz Maury de Carvalho
Fotos gentilmente cedidas por: Aldicir Scariot, Antnio Augusto F. Rodrigues, Bruno Pimenta, Evandro
Mateus Moretto, Fabiano Rodrigues de Melo, Fabrcio Alvim Carvalho, Flvio Siqueira de Castro, Guarino
Colli, Gustavo M. Accacio, Jlio Csar R. Fontenelle, Katia Sendra Tavares, Laury Cullen Junior, Magno
Botelho Castelo Branco, Marclio Thomazini, Marianna Dixo, Odete Rocha, Reginaldo Constantino,
Ricardo Miranda de Britez, Rmulo Ribon, Welber Senteio Smith, WWW/Juan Pratginests
Apoio Projeto de Conservao e Utilizao Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira Probio;
Global Environment Facility GEF; Banco Mundial BIRD; Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientco e Tecnolgico CNPq; Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento PNUD -
Projeto BRA/00-021
Fragmentao de Ecossistemas: Causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendaes de polticas
pblicas / Denise Maral Rambaldi, Daniela Amrica Surez de Oliveira (orgs.)
Braslia: MMA/SBF, 2003.
510 p.
ISBN 87166-48-4
1. Meio Ambiente 2. Biodiversidade 3. Ecossistemas. I. Brasil. Ministrio do Meio Ambiente.
CDU 574
Ministrio do Meio Ambiente MMA
Centro de Informao e Documentao Lus Eduardo Magalhes CID Ambiental
Esplanada dos Ministrios Bloco B trreo
70068-900 Braslia/DF
Tel.: 55 61 317 1235 Fax: 55 61 224 5222
e-mail: cid@mma.gov.br
Ministrio do Meio Ambiente
Secretaria de Biodiversidade e Florestas
Braslia DF
2003
FRAGMENTAO DE ECOSSISTEMAS
Causas, efeitos sobre a biodiversidade e
recomendaes de polticas pblicas
Prefcio 7
Apresentao 9
Agradecimentos 11
Os autores 13
Siglas 17
Seo I Introduo
Por que usar nomes cientcos 22
1 Fragmentao: alguns conceitos 23
Seo II Causas da fragmentao
2 Causas naturais 43
3 Causas antrpicas 65
Seo III Efeitos da fragmentao sobre a biodiversidade
4 Vegetao e ora 103
5 Mamferos 125
6 Aves 153
7 Anfbios e rpteis 183
8 Organismos aquticos 201
9 Insetos 239
10 Interaes entre animais e plantas 275
11 Gentica de populaes naturais 297
12 A fragmentao dos ecossistemas e a biodiversidade brasileira: uma sntese 317
Seo IV Gesto de paisagens fragmentadas e recomendaes de polticas pbicas
13 Manejo de populaes naturais em fragmentos 327
14 Manejo do entorno 347
15 Ferramentas biolgicas para investigao e monitoramento dos habitas naturais
fragmentados 367
16 Polticas pblicas e a fragmentao de ecossistemas 391
Anexos
Caracterizao dos subprojetos 423
Glossrio 485
Sumrio
Prefcio
Desde que o Brasil tornou-se signatrio da Conveno sobre a
Diversidade Biolgica, durante a Rio 92, o tema Biodiversidade vem per-
meando vrias iniciativas deste Ministrio, resultando, entre outras, na
criao em 1999 da Secretaria de Biodiversidade e Florestas. imenso
o desao que o Ministrio do Meio Ambiente enfrenta diariamente para
proteger, de forma sustentvel, para toda a sociedade brasileira, atual
e futura, aquilo que um de seus maiores patrimnios, a diversidade
biolgica do pas, incluindo-se aqui a qualidade dos ambientes terrestres
e aquticos continentais e marinhos.
O MMA busca, por intermdio de seus programas e projetos a cria-
o e a consolidao de aes que oportunizem a participao das vrias
instncias envolvidas nas questes ambientais, com o intuito de permitir
uma maior aproximao dos vrios atores sociais em suas tomadas de
deciso.
Como parte desse propsito, o MMA vem executando o Projeto de
Conservao e Utilizao Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira
(Probio), implementado com recursos do Governo Brasileiro, no valor de
10 milhes de dlares, acrescidos de recursos de doao do Fundo para
o Meio Ambiente Global (GEF), no mesmo valor, administrados pelo
Banco Mundial e em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Cientco e Tecnolgico (CNPq).
Como parte de sua estratgia para o estabelecimento de diretrizes
para a conservao da diversidade biolgica brasileira e sua utilizao
sustentvel, o Probio vem lanando editais pblicos para seleo de
projetos sobre variados temas, o que resultou, at o momento, em 85
subprojetos contratados que envolvem em sua execuo mais de 150
instituies pblicas e organizaes no governamentais nacionais e
internacionais. Os resultados destes subprojetos e suas implicaes para
a biodiversidade brasileira vm sendo apresentados em publicaes da
srie Biodiversidade, que conta at o momento com cinco volumes.
com grande satisfao, portanto, que apresento o sexto volume
dessa coleo, com o resultado alcanado por 15 subprojetos que foram
selecionados por meio do Edital Probio 01/1997 e que foram executados
no perodo de 1998 a 2002. Num esforo de sntese, todos os coorde-
nadores dos subprojetos e integrantes das equipes tcnicas destes,
somando mais de 120 autores, produziram em conjunto esta publica-
o, que apresenta os resultados das anlises feitas para identicao
de causas e conseqncias da fragmentao de ecossistemas sobre a
biodiversidade brasileira. Com base nos resultados obtidos, o livro ainda
apresenta propostas de adequaes, melhorias, criao e muitas vezes
compatibilizao de polticas pblicas visando mitigao, preveno
e reverso dos efeitos adversos da fragmentao de ambientes sobre a
diversidade biolgica brasileira.
O livro adota tambm o conceito de sustentabilidade visando
obteno de resultados permanentes decorrentes das polticas sugeri-
das pelos Projetos, no apenas do ponto de vista ambiental, como tam-
bm social, econmico e poltico.
O texto, como poder ser visto, foi construdo em uma linguagem
acessvel maioria das pessoas que tem a responsabilidade e o interesse
no conhecimento sobre os impactos da fragmentao sobre a biodiversi-
dade, e que necessitam destas informaes para tomar decises sobre
este tema.
Esta publicao evidencia a inteno deste Ministrio na aproxima-
o com a sociedade brasileira em busca de maior conhecimento e de
construo de propostas visando melhoria das condies ambientais e
a reverso dos efeitos adversos sobre estas.
Marina Silva
Ministra do Meio Ambiente
Apresentao
Em dezembro de 1997 o Projeto de Conservao e de Utilizao
Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira - Probio lanou o Edital
01/1997 visando selecionar propostas que abordassem o tema Frag-
mentao de Ecossistemas Naturais e que resultassem em recomenda-
es de polticas pblicas para mitigar os efeitos da perda da biodiver-
sidade causada pela fragmentao dos ecossistemas brasileiros.
Desta forma, foram selecionadas, ento, 15 propostas que
apresentaram variados e ricos enfoques de abordagem ao tema
proposto. Assim obtiveram-se projetos analisando, por exemplo, em
fragmentos de diferentes tamanhos, os aspectos relacionados variao
da qualidade nutricional de plantas ingeridas por animais, a identicao
da diversidade de espcies ocorrentes nesses fragmentos e a proposio
de alternativas de manejo, visando restaurar a conectividade entre eles e
garantir a disperso das espcies e o uxo gnico.
Os projetos e as instituies que os executaram foram os
seguintes:
1. Conservao, manejo e restaurao de fragmentos de Mata
Atlntica no Estado do Rio de Janeiro: mamferos como txon focal para
a formulao de estratgias. Associao Mico-Leo-Dourado
2. Efeito do processo de fragmentao orestal na sustentabilidade
de alguns ecossistemas perifricos aos eixos rodovirios no sudoeste
acreano. Embrapa-Acre
3. A fragmentao e a qualidade da dieta do primata folvoro
endmico da oresta Atlntica. Fundao BIORIO
4. Efeito da fragmentao de reas midas nas populaes de aves
limcolas migratrias intercontinentais: uma anlise sobre os corredores
migratrios no norte do Brasil. Fundao de Amparo e Desenvolvimento
da Pesquisa FADESP
5. Efeitos da fragmentao de habitat sobre populaes de
mamferos no Mdio e Baixo Tapajs, Par. Fundao de Amparo e
Desenvolvimento da Pesquisa FADESP
6. Estratgia para conservao e manejo de biodiversidade:
fragmentos de orestas semidecduas. Fundao Dalmo Giacometti
7. Fragmentao natural e articial de rios: comparao entre os
lagos do Mdio rio Doce (MG) e as represas do Mdio Tiet (SP). FAI-
UFSCar
8. Estudos de conservao e recuperao de fragmentos orestais
da APA de Camanducaia. Fundao de Desenvolvimento da Pesquisa
- FUNDEP
9. Efeitos temporais e espaciais da fragmentao de habitats
em populaes de insetos e pssaros: subsdios para o manejo e
conservao de orestas. Fundao de Desenvolvimento da Pesquisa
- FUNDEP
10. Estrutura e dinmica da biota de isolados naturais e antrpicos
do cerrado. Fundao de Empreendimentos Cientcos e Tecnolgicos
FINATEC
11. Conservao do bioma oresta com araucria. Fundao de
Pesquisas Florestais - FUPEF
12. Remanescentes de orestas na regio de Una RESTAUNA.
Fundao Pau Brasil - FUNPAB
13. A fragmentao sutil, um estudo na Mata Atlntica. Fundao
Universitria Jos Bonifcio - FUJB
14. Abordagens ecolgicas e instrumentos econmicos para o
estabelecimento do corredor do descobrimento: uma estratgia para
reverter a fragmentao orestal na Mata Atlntica do sul da Bahia.
Instituto de Estudos Scio-Ambientais do Sul da Bahia IESB
15. Ilhas de biodiversidade como corredores na restaurao da
paisagem fragmentada do Pontal do Paranapanema, So Paulo. Instituto
de Pesquisas Ecolgicas IP
Estiveram envolvidas na execuo desses projetos mais de
50 instituies governamentais (em suas diferentes esferas) e no
governamentais, contando com a participao de 315 pesquisadores
seniores, ps-doutorandos, alunos de ps-graduao de mestrado e
doutorado e alunos de graduao, alm de tcnicos de nvel superior
e mdio. A produo acadmica resultante foi tambm frtil: trs livros
lanados (havendo ainda quatro outros no prelo), 71 artigos publicados
em revistas cientcas e mais de 170 apresentaes realizadas em
congressos, seminrios e reunies cientcas.
Mais que apenas apoiar projetos houve, por parte do Probio, a
preocupao em capacitar pesquisadores para trabalhar com o tema
da biodiversidade. At o momento 16 doutores defenderam suas teses
relacionadas fragmentao de ambientes naturais, 39 mestrados
foram nalizados alm de 22 monograas de graduao. H ainda vrios
outros pesquisadores que em breve estaro nalizando seus trabalhos.
O valor apoiado pelo Ministrio do Meio Ambiente, CNPq, Banco
Mundial e GEF totalizou R$ 7.265.000,00 e foram dados como con-
trapartida mais R$ 7.939.000,00, totalizando um investimento de R$
15.204.000,00.
Todos estes nmeros e pesquisadores envolvidos ilustram a
amplitude e o envolvimento interinstitucional conseguidos para
obteno dos resultados alcanados.
Para sintetiz-los e divulg-los para a sociedade brasileira o Minis-
trio do Meio Ambiente optou por elaborar esta publicao. Sua viabi-
lizao implicou na realizao, ao longo de 12 meses, de trs reunies
de trabalho com a presena dos vrios autores dos captulos, para a
redao e discusso de formato e contedo do livro. Ao nal desse
esforo, obteve-se este documento que, com satisfao, disponibili-
zado a todos. Ele apresenta resultados consistentes e que muito devero
contribuir para a formulao e ajuste das polticas pblicas relacionadas
conservao da biodiversidade dos ecossistemas brasileiros.
Joo Paulo Ribeiro Capobianco
Secretrio de Biodiversidade e Florestas
Agradecimentos
Nos dias atuais, com o profundo e acelerado processo de fragmen-
tao dos ecossistemas brasileiros, a maioria das espcies da ora e da
fauna est representada por conjuntos de pequenas populaes cada
vez mais isoladas umas das outras. Os efeitos negativos deste processo
sobre a biodiversidade e, conseqentemente, sobre a integridade dos
processos ecolgicos e servios ambientais prestados pelos ecossiste-
mas, conguram um cenrio preocupante porque ainda pouco conhe-
cido em suas conseqncias no longo prazo.
Esta preocupao e a busca por solues cientcas e polticas para
minimizar as perdas de biodiversidade nas prximas dcadas, foi mate-
rializada pelo Probio com o lanamento do Edital 01/97, visando nan-
ciar projetos que abordassem a fragmentao dos ecossistemas naturais
no Brasil sob diversas perspectivas. O Probio nanciou 15 projetos,
cujos resultados principais so sintetizados neste volume. No entanto,
o Probio foi alm de simplesmente demonstrar os efeitos negativos da
fragmentao, reconhecendo que grande parte das solues de mitiga-
o destes impactos encontra-se na integrao estratgica das polticas
pblicas setoriais que, de forma direta ou indireta, contribuem para o
agravamento do processo de fragmentao. Todos os projetos apoiados
pelo Probio, em algum momento de sua execuo, depararam-se com
polticas pblicas desarticuladas - seja em nvel nacional, estadual ou
municipal - que contribuem de maneira decisiva com os processos, via
de regra desordenados, de uso e ocupao do solo.
Inevitavelmente, algumas perguntas deveriam ser respondidas:
quanto os agentes pblicos responsveis pelo processo de deciso
poltica esto informados a respeito da fragmentao de ecossistemas
e seus impactos negativos? Como ns pesquisadores, educadores e
gestores de reas naturais, estamos (ou no) transmitindo informaes
cientcas para que esses agentes possam balizar suas decises polti-
cas? Quais so os instrumentos disponveis para tornar esse processo de
comunicao mais eciente? A tentativa de responder a estas perguntas
foi consubstanciada na publicao deste volume que tm como destina-
trios os agentes pblicos tomadores de deciso.
Organizado de forma didtica, com linguagem tcnica, porm
simples e acessvel ao pblico pouco familiarizado com a questo,
este volume aborda os aspectos histricos da fragmentao natural e
antrpica; os aspectos biolgicos atravs dos efeitos da fragmentao
sobre diversos grupos taxonmicos e processos ecolgicos estudados;
algumas tcnicas usadas na gesto de paisagens e populaes fragmen-
tadas e, naliza com um breve cenrio das polticas pblicas que, recon-
hecidamente, tm contribudo para o isolamento de habitats naturais. A
consolidao de todos estes aspectos est nas inmeras recomendaes
traadas a partir dos resultados de cada projeto e destacadas em cada
um dos captulos deste volume.
O desejo de todos os envolvidos neste esforo, que no foi peque-
no, despertar, e manter, o interesse poltico pela conservao dos
ecossistemas brasileiros; fazer com que a fragmentao antrpica seja
reconhecida e tratada como uma das mais fortes e iminentes ameaas
sobre os biomas brasileiros.
Finalmente, em nome dos 124 autores, parabenizamos o Probio e
o CNPq pela iniciativa indita e agradecemos pelo apoio aos 15 projetos
cujos resultados tornaram possvel esta publicao.
Denise Maral Rambaldi
Os Autores
1. Adriana Daudt Grativol, Biloga, M.Sc., Universidade Estadual Norte Fluminense e
Associao Mico-Leo-Dourado, adg@uenf.br
2. Adriana Maria Gntzel, biloga, Ph.D., Universidade Federal de So Carlos e Instituto
Internacional de Ecologia, aguntzel@uol.com.br
3. Adriani Hass, Biloga, Ph.D., Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientco e Tecnolgico,
ahass@cnpq.br
4. Aldicir Scariot, Engenheiro Florestal, Ph.D., Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia,
scariot@cenargen.embrapa.br
5. Alexandra Santos Pires, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro,
aspires@biologia.ufrj.br
6. Alexandre Bonesso Sampaio, Engenheiro Florestal, M.Sc., Embrapa Recursos Genticos e
Biotecnologia, bonesso@cenargen.embrapa.br
7. Alexandre Damasceno, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais,
alegdamasceno@ig.com.br
8. Ana Lucia Mello, Biloga, AGUARI, aguari@micropic.com.br
9. Ana Tereza Lyra Lopes, Biloga, M.Sc., Museu Paraense Emlio Goeldi, atllopes@yahoo.com
10. Ana Yamaguishi Ciampi, Biloga, Ph.D., Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia,
aciampi@cenargen.embrapa.br
11. Anderson Cssio Sevilha, Bilogo, M.Sc., Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia,
sevilha@cenargen.embrapa.br
12. Andr Lima, Advogado, M.Sc., Instituto Socioambiental, alima@socioambiental.org
13. Andr Nemsio, Bilogo, Universidade Federal de Minas Gerais, nemesio@icb.ufmg.br
14. Andr Lus Ravetta, Bilogo, M.Sc., Museu Paraense Emlio Goeldi / Universidade Federal do
Par, alravetta@hotmail.com
15. Anglica Uejima, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Paran, poospiza@terra.com.br
16. Anbal dos Santos Rodrigues, Engenheiro Agrnomo, M.Sc, Instituto Agronmico do Paran-
IAPAR, arodrigues@intercoop.com.br
17. Antnio Augusto Ferreira Rodrigues, Bilogo, Ph.D., Universidade Federal do Maranho,
augusto@ufma.br
18. Ariane Paes de Barros Werckmeister Thomazini, Engenheira Agrnoma, Ph.D., Delegacia
Federal de Agricultura no Acre, ssv-ac@agricultura.gov.br
19. Arnola Ceclia Rietzler, biloga, Ph.D., Universidade Federal de Minas Gerais,
rietzler@icb.ufmg.br
20. Arthur Brant, Bilogo, Universidade de Braslia, abrant@unb.br
21. Brites Cabral, Biloga, M.Sc., Universidade Estadual do Norte Fluminense,
beritz@bol.com.br
22. Bruno Vergueiro Silva Pimenta, Bilogo, Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da
Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, bvs@hotmail.com,
brunopimenta@softhome.net
23. Carlos Eduardo de Viveiros Grelle, Bilogo, Ph.D.,Universidade Federal do Rio de Janeiro,
grellece@biologia.ufrj.br
24. Carlos Ramon Ruiz, Zologo, Ph.D., Associao Mico-Leo-Dourado e Universidade Estadual
do Norte Fluminense, cruiz@uenf.br
25. Cimone Rozendo de Souza, Sociloga, M.Sc., INTERCOOP, cimonej@terra.com.br
26. Cludio Valladares Pdua, Bilogo, Ph.D., Instituto de Pesquisas Ecolgicas e Universidade de
Braslia, cpadua@unb.br
27. Cristiana Saddy Martins, Biloga, M.Sc., Instituto de Pesquisas Ecolgicas,
ipecristi@uol.com.br
28. Cristiane Gomes Batista, Biloga, M.Sc., Universidade de Braslia, cris-mrsdf@abord.com.br
29. Daniel Luis Mascia Vieira, Bilogo, M.Sc., Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia,
dvieira@cenargen.embrapa.br
30. Davyson de Lima Moreira, Farmacutico, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro,
davy1000@hotmail.com
31. Dbora Leite Silvano, Biloga, M.Sc., Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia,
Universidade Federal de Minas Gerais, debora@sete-sta.com.br, dsilvano@softhome.net
32. Deborah Maria de Faria, Biloga, Ph.D., Universidade Estadual de Santa Cruz e Instituto
Drades, institutodriades@uol.com.br
33. Denise Alemar Gaspar, Biloga, M.Sc., Universidade Estadual de Campinas,
hztec@lexxa.com.br
34. Denise Maral Rambaldi, Engenheira Florestal e Bacharel em Direito, Associao Mico-Leo-
Dourado, rambaldi@micoleao.org.br
35. Diogo de Carvalho Cabral, estudante de Geograa, FIOCRUZ, keybrow@ig.com.br
36. Dora Maria Villela, Biloga, Ph.D., Universidade Estadual Norte Fluminense e Associao
Mico-Leo-Dourado, dora@uenf.br
37. Douglas Kajiwara, Bilogo, autnomo, poospiza@terra.com.br
38. Dulcinia de Carvalho, Engenheira Florestal, Ph.D., Universidade Federal de Lavras,
dulce@ua.br
39. Edivani Villaron Franceschinelli, Biloga, Ph.D., Universidade Federal de Minas Gerais,
edivani@icb.ufmg.br
40. Eduardo Andrade Botelho Almeida, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais,
ealmeida@icb.ufmg.br
41. Eduardo Humberto Ditt, Engenheiro Agrnomo, M.Sc., Instituto de Pesquisas Ecolgicas,
eduditt@ipe.org.br
42. Eduardo Mariano Neto, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo,
eduardo_mariano@hotmail.com
43. Elena Charlotte Landau, Biloga, Ph.D., Universidade Federal de Minas Gerais,
landau@icb.ufmg.br
44. Eleonore Zulnara Freire Setz, Biloga, Ph.D., Universidade Estadual de Campinas,
setz@unicamp.br
45. Ernesto B. Viveiros de Castro, Bilogo, M.Sc., IBAMA / Braslia, ernesto@biologia.ufrj.rj
46. Evaldo Luiz Gaeta Espndola, Bilogo, Ph.D., Universidade de So Paulo, Escola de
Engenharia de So Carlos, elgaeta@sc.usp.br
47. Evandro Mateus Moretto, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo,
evandromm@yahoo.com
48. Evandro Orfan Figueiredo, Engenheiro Agrnomo, EMBRAPA Acre,
orfano@cpafac.embrapa.br
49. Evonnildo da Costa Gonalves, Biomdico, M.Sc., Universidade Federal do Par,
ecostag@ufpa.br
50. Fabiano Godoy, Engenheiro Cartgrafo, Associao Mico-Leo-Dourado,
fabianogodoy@micoleao.org.br
51. Fernando Antnio dos Santos Fernandez, Bilogo, Ph.D., Universidade Federal do Rio de
Janeiro, rodentia@biologia.ufrj.br
52. Fernando Amaral Silveira, Engenheiro Agrnomo, Ph.D., Universidade Federal de Minas
Gerais, fernando@icb.ufmg.br
53. Flvio Antnio Mes dos Santos, Bilogo, Ph.D., Universidade Estadual de Campinas,
fsantos@unicamp.br
54. Gilberto Tiepolo, Engenheiro Florestal, M.Sc., Sociedade de Pesquisa em Vida Silvestre e
Educao Ambiental - SPVS, carbono@spvs.org.br
55. Gilda Guimares Leito, Farmacutica, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro,
ggleitao@nppn.ufrj.br, ggleitao@hotmail.com
56. Giuliana Mara Patrcio Vasconcelos, Engenheira Florestal, M.Sc., Universidade de So Paulo,
gmpvasco@carpa.ciagri.usp.br
57. Guarino Rinaldi Colli, Bilogo, Ph.D., Universidade de Braslia, grcolli@unb.br
58. Gustavo Alberto Bouchardet da Fonseca, Bilogo, Ph.D., Conservation International,
g.fonseca@conservation.org
59. Gustavo de Mattos Accacio, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo, mechanitis@aol.com
60. Helga Correa Wiederhecker, Biloga, M.Sc.,Universidade de Braslia, helga@unb.br
61. Herbert Gomes, Gegrafo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, gherbert@ufrj.br
62. Idsio Luis Franke, Engenheiro Agrnomo, Economista, EMBRAPA Acre,
idesio@cpafac.embrapa.br
63. Jeanine Maria Felli, Engenheira Florestal, Ph.D., Universidade de Braslia, felli@unb.br
64. Jefferson Ferreira Lima, Tcnico Agrcola, Instituto de Pesquisas Ecolgicas,
jeff.lima@stetnet.com.br
65. Joema Rodrigues Povoa, Engenheira Agrnoma, M.Sc., Universidade Federal de Lavras
66. Jos Roberto Rodrigues Pinto, Engenheiro Florestal, Ph.D., Universidade de Braslia,
jrrpinto@uol.com.br
67. Jos Vicenti Ortiz, Bilogo, M.Sc., Universidade Estadual de Santa Cruz,
zecaortiz@uol.com.br
68. Judith Tiomny Fiszon, Engenheira Sanitarista, Escola Nacional de Sade Pblica, Fundao
Oswaldo Cruz, jtszon@openlink.com.br
69. Julio Ernesto Baumgarten, Bilogo. M.Sc., Universidade Estadual de Santa Cruz e Instituto
Drades, baumgart@uesc.br e institutodriades@uol.com.br
70. Jlio Csar Rodrigues Fontenelle, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais,
juliocrf@icb.ufmg.br
71. Katia Sendra Tavares, Biloga, Universidade Federal de So Carlos, katia.st@uol.com.br
72. Katia Yukari Ono, Ecloga, AGUARI, aguari@micropic.com.br
73. Keith Alger, Cientista Poltico, Ph.D., Conservation International, k.alger@conservation.org
74. Laura Jane Gomes, Engenheira Florestal, M.Sc., Universidade Estadual de Campinas e
AGUARI, aguari@micropic.com.br
75. Laury Cullen Jr., Engenheiro Florestal, M.Sc., Instituto de Pesquisas Ecolgicas,
lcullen@stetnet.com.br
76. Leonardo Barros Ventorim, Engenheiro Agrimensor, Associao Mico-Leo-Dourado,
leomou@micoleao.org.br
77. Lcia Helena Wadt, Engenheira Florestal, Ph.D., EMBRAPA Acre, lucia@cpafac.embrapa.br
78. Lus Cludio de Oliveira, Engenheiro Florestal, M.Sc., EMBRAPA Acre,
lclaudio@cpafac.embrapa.br
79. Luiz Fernando Gonalves Leandro dos Santos, Engenheiro Agrnomo, INTERCOOP,
luizintercoop@bol.com.br
80. Magno Botelho Castelo Branco, Bilogo, Universidade Federal de So Carlos,
magno@altern.org
81. Marcelo Trindade Nascimento, Bilogo, Ph.D., Universidade Estadual Norte Fluminense e
Associao Mico-Leo-Dourado, mtn@uenf.br
82. Mrcia Seplveda Guilherme, Farmacutica, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
marciasg2002@yahoo.com.br
83. Marclio Jos Thomazini, Engenheiro Agrnomo, Ph.D., EMBRAPA Acre,
marcilio@cpafac.embrapa.br
84. Marco Aurlio Mello, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro,
marco-mello@bol.com.br
85. Marcus Vincius Vieira, Bilogo, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro,
mvvieira@biologia.ufrj.br
86. Maria Ins Morato, Engenheira Florestal, Universidade Autnoma do Mxico,
morato@ecologia.edu.mx
87. Maria Izabel Radomski, Engenheira Agrnoma, M.Sc., INTERCOOP, izabel@intercoop.com.br
88. Maria Paula Cruz Schneider, Biloga, Ph.D., Universidade Federal do Par, paula@ufpa.br
89. Marianna Botelho de Oliveira Dixo, Biloga, M.Sc.,Universidade de So Paulo,
maridixo@ib.usp.br
90. Mauricio Borges Sampaio Cunha, Psiclogo, AGUARI, aguari@micropic.com.br
91. Nadia Waleska Valentim Pereira, Biloga, Universidade Federal de Lavras,
nadiavp@mailbr.com.br
92. Natalie Oliers, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro, natalieo@biologia.ufrj.br
93. Nazira C. Camely, Economista, M.Sc.,Universidade Federal do Acre, nazira@ufac.br
94. Nilson de Paula Xavier Marchioro, Engenheiro Agrnomo, Ph.D., INTERCOOP,
nmarchioro@intercoop.com.br
95. Odete Rocha, Biloga, Ph.D., Universidade Federal de So Carlos, doro@power.ufscar.br
96. Paula Procpio de Oliveira, Biloga, Ph.D., Associao Mico-Leo-Dourado,
ppo@micoleao.org.br
97. Paulo Henrique Chaves Cordeiro, Bilogo, M.Sc., Center for Applied Bodiversity Science
CABS, Universidade Federal de Minas Gerais, paulo.cordeiro@ornis.com.br
98. Paulo Roberto Castella, Engenheiro Agrnomo, Secretaria de Meio Ambiente do Paran,
Probio.araucaria@ig.com.br, castela@pr.gov.br
99. Raquel Teixeira de Moura, Biloga, M.Sc., Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da
Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, rmoura@iesb.org.br
100. Reginaldo Constantino, Bilogo, Ph.D., Universidade de Braslia, constant@unb.br
101. Renata Fraccacio, Biloga, M.Sc., Universidade de So Paulo, rfrac@terra.com.br
102. Renata Pardini, Biloga, Ph.D., Universidade de So Paulo, renatapardini@uol.com.br
103. Ricardo Henrique Gentil Pereira, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo,
rhgentil@zipmail.com.br
104. Ricardo Miranda de Britez, Bilogo, Ph.D., Sociedade de Pesquisa em Vida Silvestre e
Educao Ambiental - SPVS, rmbritez@netpar.com.br
105. Rmulo Ribon, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais, ribon@icb.ufmg.br
106. Rosan Valter Fernandes, Eclogo, Associao Mico-Leo-Dourado, rosan@micoleao.org.br
107. Rosana Gentile, Biloga, Ph.D., Fundao Oswaldo Cruz, rosana.rlk@terra.com.br
108. Roselaini Mendes do Carmo, Biloga, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais,
carmo@mono.icb.ufmg.br
109. Rudi Ricardo Laps, Bilogo, M.Sc. Fundao Universidade Regional de Blumenau / Instituto
Drades, rudilaps@uol.com.br
110. Rui Cerqueira, Zologo, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro, rui@biologia.ufrj.br
111. Sandra Bos Mikich, Biloga, EMBRAPA Florestas, sbmikich@cwb.matrix.com.br
112. Sandra Maria Faleiros Lima, Sociloga, Ph.D., Universidade Estadual de Campinas,
lima@obelix.unicamp.br
113. Simone Rodrigues de Freitas, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro,
sfreitas@biologia.ufrj.br
114. Stephen Francis Ferrari, Antroplogo, Ph.D., Universidade Federal do Par, ferrari@ufpa.br
115. Suzana Guimares Leito, Farmacutica, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro,
sgleitao@pharma.ufrj.br, sgleitao@ig.com.br
116. Suzana Machado Pdua, Educadora Ambiental, M.Sc., Instituto de Pesquisas Ecolgicas,
ipe@alternex.com.br
117. Suzeley Rodgher, Biloga, M.Sc., Universidade de So Paulo, surodgher@uol.com.br
118. Tnia Margarete Sanaiotti, Biloga, Ph.D., Instituto Nacional de Pesquisas da Amaznia,
sanaiott@inpa.gov.br
119. Teofnia Heloisa Dutra Amorim Vidigal, Engenheira Florestal, Ph.D., Universidade Federal de
Minas Gerais, dutra@netra.cpqrr.ocruz.br
120. Vanessa Canavesi, Engenheira Florestal, Universidade Federal do Paran,
vacanavesi@bol.com.br
121. Vnia Luciane Alves Garcia, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro,
vgarcia@compuland.com.br
122. Vera Helena Vieira Hreisemnou, Sociloga, Secretaria de Educao do Estado do Paran,
verafabio@uol.com.br
123. Welber Senteio Smith, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo, welber_smith@uol.com.br
124. Yasmine Antonini, Biloga, Ph.D., Universidade Federal de Minas Gerais,
antonini@mono.icb.ufmg.br
Siglas
ACESITA Aos Especiais Itabira
ANEEL Agncia Nacional de Energia Eltrica
APA rea de Proteo Ambiental
APEB rea de Proteo Especial do Barreiro
APP rea de Proteo Permanente
AVP Anlise de Viabilidade Populacional
BASA Banco da Amaznia S.A
BIRD Banco Internacional de Reconstruo e Desenvolvimento (Banco Mundial)
BIORIO Plo de Biotecnologia do Rio de Janeiro
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social
CABS Center for Applied Biodiversity Science
CAPES Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior
CDB Conveno da Diversidade Biolgica
CEMIG Companhia Energtica de Minas Gerais
CEPEC Centro de Pesquisas do Cacau
CEPRAM Conselho Estadual de Proteo Ambiental do Estado da Bahia
CESP Companhia Energtica de So Paulo
CI Conservation International
CITES Conveno sobre o Comrcio de Espcies da Fauna e da Flora Ameaadas de Extino
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientco e Tecnolgico
CONAB Companhia Nacional de Abastecimento
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
DDF Diretoria de Desenvolvimento Florestal
DNOS Departamento Nacional de Obras e Saneamento
EE Estao Ecolgica
EEUFMG Estao Ecolgica da Universidade Federal de Minas Gerais
EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental / Relatrio de Impacto sobre o Meio Ambiente
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria
FADESP Fundao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa
FAPESP Fundao de Amparo a Pesquisa do Estado de So Paulo
FATMA Fundao do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina
FEEMA Fundao Estadual de Engenharia e Meio Ambiente
FEMA Fundao Estadual de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso
FENORTE/UENF Fundao Estadual Norte Fluminense/Universidade Estadual do Norte Fluminense
FINATEC Fundao de Empreendimentos Cientcos e Tecnolgicos
FLONA Floresta Nacional
FONAFIFO Fundo Nacional de Financiamento Florestal (da Costa Rica)
FUNDEP Fundao de Desenvolvimento da Pesquisa
FUJB Fundao Universitria Jos Bonifcio
FUNPAB Fundao Pau-Brasil
FUPEF Fundao de Pesquisas Florestais
FZB Fundao Zoobotnica de Belo Horizonte
GEF Global Environment Facility (Fundo para o Meio Ambiente Global)
IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis
IBDF Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
IBGE Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica
IEPA Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado do Amap
IESB Instituto de Estudos Scio-Ambientais do Sul da Bahia
IET ndice de Estado Trco
IMAZON Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amaznia
INCRA Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria
INPA Instituto Nacional de Pesquisas da Amaznia
INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IPAM Instituto de Pesquisa Ambiental da Amaznia
IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas
ISA Instituto Socioambiental
ISPN Instituto Sociedade, Populao e Natureza
IUCN Unio Internacional para a Conservao da Natureza
MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
MHN Museu de Histria Natural
MMA Ministrio do Meio Ambiente
ONG Organizao no Governamental
OSCIP Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico
PARNA Parque Nacional
PDA Plano de Desenvolvimento da Amaznia
PDBFF Projeto de Dinmica Biolgica de Fragmentos Florestais
PDRI Programa de Desenvolvimento Rural Integrado
PERD Parque Estadual do Rio Doce
PIN Programa de Integrao Nacional
PMGB Parque das Mangabeiras
PND Plano Nacional de Desenvolvimento
PNF Programa Nacional de Florestas
POLAMAZNIA Programa de Plos Agropecurios e Agrominerais da Amaznia
POLONOROESTE Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil
PPA Programa Plurianual
PPG7 Programa Piloto para a Proteo das Florestas Tropicais do Brasil
Probio Projeto de Conservao e Utilizao Sustentvel de Diversidade Biolgica Brasileira
PROBOR Programa Nacional de Incentivo Produo de Borracha Natural
PRONABIO Programa Nacional de Diversidade Biolgica
PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PROTERRA Programa de Redistribuio de Terras e Estmulo Agroindstria do Norte e do Nordeste
REBIO Reserva Biolgica
RESTAUNA Remanescentes de Florestas na Regio
RL Reserva Legal
RMBH Regio Metropolitana de Belo Horizonte
RPPN Reserva Particular do Patrimnio Natural
SIG Sistema de Informao Geogrca
SISLEG
Sistema de Manuteno, Recuperao e Proteo da Reserva Florestal Legal e reas de
Preservao Permanente
SIPAM Sistema de Proteo da Amaznia
SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservao
SUDAM Superintendncia do Desenvolvimento da Amaznia
SUDHEVEA Superintendncia do Desenvolvimento da Borracha
SUFRAMA Superintendncia da Zona Franca de Manaus
UC Unidade de Conservao
UFMG Universidade Federal de Minas Gerais
USIMINAS Usinas Siderrgicas de Minas Gerais
WWF Fundo Mundial para a Natureza
ZEE Zoneamento Ecolgico Econmico
Introduo
s
e
o
I
22
Por que usar nomes cientcos?
Alguns leigos certamente se perguntam por que no usar apenas
os nomes comuns de animais e plantas em lugar desses nomes cient-
cos complicados e impronunciveis em Latim. Existem vrias razes
importantes para usar os nomes cientcos. Em primeiro lugar, poucas
pessoas se do conta da dimenso da diversidade biolgica do planeta.
Existem mais de 1,5 milho de espcies catalogadas pela cincia que j
receberam um nome dentro da classicao formal. Enquanto isso, os
maiores dicionrios da nossa lngua listam cerca de 50 mil palavras, e
apenas uma pequena frao delas corresponde a nomes de animais e
plantas. Ou seja, no temos nomes comuns para a vasta maioria das
espcies.
Outra limitao importante dos nomes comuns a existncia de
formas regionais. Enquanto o nome cientco de qualquer organismo
o mesmo em todo o mundo, os nomes comuns de animais e plan-
tas variam muito entre diferentes regies do Brasil, e mais ainda entre
pases diferentes. tambm comum encontrar um mesmo nome sendo
usado para espcies totalmente diferentes em regies diferentes.
Os nomes comuns, na maioria dos casos, no correspondem
s espcies, mas sim a um conjunto de espcies com caractersticas
semelhantes. Existem, por exemplo, mais de 50 espcies de ip-
amarelo, todas com o mesmo nome comum. No caso de insetos,
nosso repertrio de nomes muito pobre e a maioria corresponde a
ordens ou famlias, algumas contendo milhares de espcies. Besouros
da famlia Curculionidae, por exemplo, que contm mais de 50 mil
espcies conhecidas, so todos chamados de gorgulhos ou bicudos.
Existem tambm grandes grupos para os quais no existe nenhum
nome comum em portugus. o caso, por exemplo, dos vermes do Filo
Acanthocephala, que so parasitas de vertebrados.
A classicao biolgica atual deriva do sistema desenvolvido
pelo botnico sueco Carl Lin, mais conhecido pelo nome latinizado
Linnaeus. um sistema hierrquico inclusivo, em que as espcies so
agrupadas em gneros, os gneros em famlias, as famlias em ordens,
as ordens em classes, as classes em los e os los em reinos. Alm
dos nomes das espcies, todos esses outros grupos recebem nomes
cientcos latinizados. O nome da espcie formado pela combinao
do nome do gnero com o nome especco. Por exemplo, a mosca
domstica, espcie batizada por Linnaeus, est includa no Reino Ani-
mal, Filo Arthropoda, Classe Insecta, Ordem Diptera, Famlia Muscidae,
gnero Musca, e espcie Musca domestica. Por conveno, os nomes
de gneros e espcies so sempre destacados do texto, seja sublinhado,
em negrito ou em itlico.
Reginaldo Constantino
23
1
FRAGMENTAO:
ALGUNS CONCEITOS
Rui Cerqueira
Arthur Brant
Marcelo Trindade Nascimento
Renata Pardini
24
F
r
a
g
m
e
n
t
a
o
:
a
l
g
u
n
s
c
o
n
c
e
i
t
o
s
Introduo
O processo de fragmentao do ambiente existe naturalmente, mas
tem sido intensicado pela ao humana. Desta ao tem resultado um
grande nmero de problemas ambientais. Certos princpios biolgicos
so importantes para se compreender estes problemas. Neste captulo
so mostrados alguns dos conceitos biolgicos bsicos mais impor-
tantes para o entendimento da problemtica da fragmentao hoje.
Inicialmente so expostos os conceitos e, a seguir uma rpida abor-
dagem destes conceitos que pode proporcionar melhor compreenso da
Biologia da Fragmentao.
1. Fragmentos e mosaicos: variao espacial do mundo
O ambiente fsico do mundo no uniforme. Existem diferenas
causadas pelo aquecimento desigual da terra, o que leva a variaes
espaciais das condies fsicas caractersticas do ar e das guas, com
massas de ar e de mar distintas. Estas caractersticas, quando associa-
das ao relevo e s diferentes formas dos continentes, criam condies
particulares de clima. As caractersticas minerais das rochas associadas
ao clima determinam, por sua vez, solos distintos. Assim o mundo
heterogneo, um mosaico. Quando se observa o ambiente num dado
local ou regio, pode se perceber que existem diferenas em escalas
menores. Por exemplo, o solo no uniforme e a umidade que contm
tambm varia. Os seres vivos vo encontrar no mundo uma colcha de
retalhos, onde os recursos para a sua sobrevivncia esto distribudos
em trs dimenses. Espcies e indivduos tm habilidades diferentes em
conseguir estes recursos
1, 2
. Pode-se denominar o conjunto dos fatores
abiticos, isto , os fatores fsicos e qumicos do ambiente, de um dado
local como habitat. Habitats so, portanto, as partes do mosaico do
ambiente no espao geogrco
3
.
2. Habitats
Quando a vegetao est estabelecida sobre uma rea, o ambi-
ente forma um mosaico de condies fsicas distintas das que existiriam
sem a vegetao. As plantas modicam o solo de vrias maneiras,
assim como interferem no microclima. O microclima o conjunto das
condies fsicas do ar perto da superfcie
4
. O clima medido pelas esta-
es meteorolgicas pode ser chamado de macroclima, pois se refere
circulao geral da atmosfera em grande escala. Dependendo do
quo heterogneo o ambiente, maior ou menor variedade de habitats
existir sob o efeito da vegetao. Por exemplo, numa oresta de pin-
heiros madura existe maior homogeneidade, enquanto que num campo
sujo h uma variao maior de condies, j que no primeiro caso, o
25
tamponamento do macroclima acarreta menores variaes de tempera-
tura, umidade etc. de um ponto a outro da oresta. No caso do campo
sujo, as condies so mais variadas, havendo diferenas sob rvores e
arbustos e as reas de gramneas. Mas mesmo dentro de uma oresta, o
ambiente no homogneo em relao a todas as espcies. Por exem-
plo, uma determinada espcie de planta pode necessitar de condies
particulares de umidade no solo para germinar e crescer. As prprias
rvores so diferentes em relao ao microclima que criam sob elas.
Estes conceitos levam compreenso de que para cada espcie,
o ambiente um mosaico de habitats, assim como a presena ou no
de recursos alimentares e sua abundncia, que formam uma colcha
de retalhos. As populaes de uma dada espcie podem existir como
populaes locais em cada retalho do ambiente onde existem habitats
favorveis e alimentao.
Nesta colcha algumas das manchas so melhores do que outras,
fato que depende da probabilidade de sobrevivncia e reproduo das
populaes (ou indivduos) que as ocupam, isto , da sua aptido dar-
winiana. Considerando-se que algumas manchas so boas, favorveis,
e outras ruins, menos favorveis e ainda, que entre elas os habitats so
completamente desfavorveis e negativos, a aptido de um dado indi-
vduo ser proporcional ao tempo que este permanecer em cada um dos
tipos de habitat para suas atividades vitais (alimentao, reproduo,
excreo etc.) (Figura 1). Este conceito bastante geral e, na verdade,
pode se imaginar que a aptido varia de -1 at +1, congurando um gra-
diente de aptido. Pode se visualizar uma simulao da distribuio de
reas com valores variados de aptido nas Figuras 3 a 5.
Fig.1
Um indivduo de uma dada espcie aumentar sua aptido proporcionalmente ao tempo que permanecer
nos habitats bons. Sua aptido ser menor proporcionalmente ao tempo que car nos habitats ruins. Entre
estes habitats podem existir habitats negativos, pois a aptido ser negativa proporcionalmente ao tempo
que nele estiverem
5
.
O conceito de habitat aqui apresentado refere-se s condies
ambientais relacionadas a uma dada espcie. Um conjunto multies-
pecco pode tambm ter condies em comum e, portanto, um habitat
pode referir-se a uma comunidade. Boa parte dos termos usados em
Ecologia e outros estudos ambientais tm uma variedade de signica-
dos. Um problema que deve se considerar a escala do estudo ao qual
o termo se refere. Por exemplo, grandes regies com caractersticas
26
F
r
a
g
m
e
n
t
a
o
:
a
l
g
u
n
s
c
o
n
c
e
i
t
o
s
gerais em comum, com conjuntos de espcies de animais e plantas par-
ticulares, so freqentemente denominados biomas. Ao se considerar
uma grande regio em uma larga escala, pode se falar em macrohabi-
tat, e o termo ser um pouco mais preciso do que bioma. Este se refere
aos grandes conjuntos vegetacionais sob um outro conjunto de fatores
ambientais (clima, relevo etc.) que os determinam. As espcies existem
em escala geogrca referida a estes macrohabitats e geralmente, em
subconjuntos particulares denominados, em escalas de espao meno-
res, de mesohabitats
3,6
. Determinadas espcies, por sua vez, podem ter
necessidades mais particulares que ocorrem em escala ainda menor e,
num ambiente formado por manchas de habitats, a existncia dos recur-
sos especcos necessrios para a sobrevivncia destas espcies em
determinadas manchas permite que estas sejam ocupadas
2
.
Um dado macrohabitat pode ter mesohabitats bastante contrastan-
tes. Por exemplo, na regio da Caatinga existem reas com gua per-
manente devido aos aqferos rasos ou condensao orogrca. No
Nordeste estas reas so denominadas de brejos, que consistem em
fragmentos naturais com plantas e animais distintos das reas circunvi-
zinhas. No captulo sobre Causas Naturais, esto descritas as condies
histricas de formao desses brejos.
3. Metapopulao
As populaes de uma espcie no se distribuem continuamente,
pois s podem subsistir nos habitats que no so negativos. Em cada
mancha de habitat favorvel pode existir uma populao local. Se numa
determinada regio existem vrias manchas ocupadas pela espcie,
cada uma destas populaes tem uma dinmica prpria. Como a extin-
o local um evento que ocorrer mais cedo ou mais tarde
7
, as popu-
laes locais podero car muito pequenas ou mesmo se extinguirem.
No decorrer do tempo haver manchas ocupadas ou desocupadas pela
espcie. Mas como as manchas desocupadas tm manchas prximas
com a espcie, por migrao vinda das manchas vizinhas, elas sero
reocupadas mais cedo ou mais tarde. Regionalmente as diversas popu-
laes formam uma metapopulao. Este conceito muito importante
para a compreenso da persistncia de uma espcie e foi primeiramente
formulado por Levins
8,9
.
As migraes entre as manchas de habitats favorveis dependem
da espcie em questo: algumas se movem com facilidade e por longas
distncias, outras dependem de transporte de uma mancha a outra. Esta
capacidade de movimento caracterstica de cada espcie e a distribuio
das manchas pode facilitar ou dicultar a migrao. Por exemplo, se o
habitat favorvel existir em uma oresta contnua, o movimento pode se
dar atravs de habitats no muito favorveis. O conceito mais geral de
metapopulao pode ser entendido pelo modelo resumido na Figura 2a. Uma
espcie que tem uma dinmica de ocupao de manchas favorveis,
sua metapopulao pode mover-se entre todas as manchas de mesma
qualidade. Observaes feitas em metapopulaes naturais mostram que
uma metapopulao pode ser limitada no espao e que a recolonizao
ocorre apenas entre as manchas mais prximas. Alm disto e como visto
27
Dois modelos principais de metapopulaes. a) No modelo clssico as manchas de habitat so de tamanhos
parecidos e tm a mesma qualidade. A espcie pode mover-se e ocupar quaisquer manchas, tendo nelas
a mesma aptido. b) No modelo fonte e ralo, uma mancha consideravelmente maior do que as outras e
funciona como uma fonte permanente de emigrantes para as demais manchas. As manchas mais prximas
tm maior probabilidade de serem (re)ocupadas antes das demais. Tambm neste modelo, a qualidade dos
habitats similar. Figura baseada em Whittaker
11
.
acima, a qualidade do habitat varivel. Alguns estudos mostram que,
alm da distncia, a qualidade do habitat tambm interfere na dinmica
da metapopulao, isto , com a contnua extino e recolonizao
10
.
Outras observaes mostram que grandes manchas de habitat servem
de fonte permanente de emigrantes que podem recolonizar manchas
menores (Figura 2b). Caso as manchas grandes mantenham populaes
permanentes, dependendo da espcie, mesmo as manchas mais distantes
podem ser recolonizadas. Como em manchas menores a probabilidade
de extino maior, estas atuam como ralos onde as populaes so
mais freqentemente extintas
11
.
Fig.2
28
F
r
a
g
m
e
n
t
a
o
:
a
l
g
u
n
s
c
o
n
c
e
i
t
o
s
4. Espcies raras e endmicas
Uma espcie considerada rara quando o seu nmero de indivdu-
os ou a sua distribuio restrita em relao ao txon considerado. Um
bom exemplo disto encontra-se na Tabela 1, ilustrativa de um estudo feito
na regio da costa do Mediterrneo onde, numa coleta feita na primavera
foram capturados 2.281 besouros do tipo escaravelho. A abundncia das
20 espcies capturadas muito varivel, com uma delas sendo respon-
svel por quase 74% do total de indivduos coletados. Este resultado
o esperado quando se faz um inventrio de qualquer grupo de organis-
mos, animais ou plantas. No exemplo citado, no entanto, h uma certa
diculdade em dizer quais espcies so raras. Aquelas que tm menos
de dez indivduos? Ou menos de cinco? Mas na localidade da coleta, no
h dvidas de que as trs primeiras so raras. Mas quantas o so, no
trivial. Gaston
12
revisou as diversas denies existentes e props como
algo prximo de um consenso que, numa dada amostragem, so raras
aquelas espcies que apresentam abundncia individual menor do que
20%, portanto, no exemplo da Tabela 1, as cinco primeiras
12
.
Mas isto no resolve o problema. O tamanho da populao tambm
relativo ao tamanho da rea amostrada e quando este considerado,
o nmero estimado de indivduos de uma determinada espcie dividido
pelo tamanho da rea, fornece um nmero denominado de densidade
absoluta. Quando se considera apenas o nmero obtido pela coleta no
associado ao tamanho da rea, obtm-se uma estimativa de abundncia
de densidade relativa
13
.
Tabela 1. Exemplo da variao de abundncia em uma dada localidade. Escaravelhos coletados no
Mediterrneo. No total foram coletados 2.281 insetos. Uma nica espcie tem quase 74% da amostra total.
Fonte: Gaston
12
.
Nmero de espcies capturadas Abundncia de indivduos Porcentagem da amostragem
1 1 0.04
2 1 0.04
3 1 0.04
4 2 0.09
5 3 0.13
6 5 0.22
7 5 0.22
8 7 0.31
9 10 0.44
10 13 0.57
11 18 0.79
12 21 0.92
13 28 1.23
14 31 1.36
15 49 2.15
16 67 2.94
17 97 4.25
18 107 4.69
19 130 5.70
20 1685 73.87
29
Dependendo da rea de amostragem, uma espcie pode estar
ausente ou apresentar um baixo nmero de indivduos. Um carnvoro
tem densidade (relativa ou absoluta) menor do que suas presas.
Animais grandes tm densidade menor do que animais pequenos. Por
isso, a raridade no um valor absoluto e, quando esta considerada
em relao ao tamanho da populao, as caractersticas biolgicas da
espcie em questo devem ser levadas em considerao. Uma espcie
pode ser rara numa localidade e em outra no. Quando se diz que uma
espcie rara, pode-se imaginar que em qualquer amostragem em sua
rea de distribuio geogrca, ela estar sempre entre as 20% menos
abundantes.
Um outro critrio de raridade refere-se distribuio geogrca.
Uma espcie que tem uma ampla distribuio geogrca apresenta
maior nmero de populaes do que outra com distribuio geogrca
mais restrita. Se ambas apresentam densidades locais similares, a de
menor distribuio deve ser considerada a mais rara.
Quando uma espcie s ocorre numa determinada regio, diz se
que ela endmica. Comparativamente a uma espcie no endmica,
isto , que ocorre em uma grande rea, sua abundncia, ou seja, o
tamanho total da populao da espcie, ser menor e, eventualmente,
ela pode ser considerada rara. Note que o endemismo pode se referir a
uma rea relativamente pequena, por exemplo, a um trecho da Serra do
Mar ou, a uma rea relativamente grande, por exemplo, a Floresta Atln-
tica. Tanto uma espcie com endemismo restrito a uma rea pequena,
quanto outra a uma rea maior, podem ser ou no raras.
Note-se que a raridade local ocorre freqentemente, pois como vis-
to no item sobre metapopulao, vrios fatores levam a uma densidade
varivel em cada mancha de ambiente na qual a espcie pode existir.
5. Comunidades e sua montagem
Denomina-se comunidade bitica, ou simplesmente comunidade,
a reunio das vrias espcies que ocorrem juntas num dado trato de
terra ou volume de gua
14
. Uma questo debatida se esta reunio ao
acaso, consistindo de espcies que esto juntas somente porque suas
distribuies geogrcas coincidem ou, se existem regras na natureza
que determinam sua montagem
15,16
. Considera-se que tanto fatores do
acaso como regras de montagem ou de reunio (assembly rules), con-
tribuem para a existncia destes ensembless de espcies, que nada mais
so do que conjuntos de espcies cujos membros so considerados
como partes de um todo.
As condies para uma comunidade reunir-se dependem tanto de
fatores dependentes da densidade, isto , dos nichos existentes, quanto
dos fatores do habitat. O nicho ecolgico pode ser considerado como
as relaes positivas ou negativas entre as populaes de uma comuni-
dade
3,17
. Uma espcie de animal tem outras como fonte de alimentos e,
freqentemente, espcies determinadas. Por sua vez, esta espcie ser
presa de outras. Assim, a espcie tem sua existncia e sua abundncia,
determinada por outras com as quais se relaciona. Da mesma forma,
ela tem restries a sua existncia dependendo do habitat em que sua
30
F
r
a
g
m
e
n
t
a
o
:
a
l
g
u
n
s
c
o
n
c
e
i
t
o
s
populao est, como visto no item sobre habitats. As regras de reunio,
portanto, so determinadas por fatores dependentes das densidades das
espcies e dos habitats existentes num dado local
18,19
.
As regras de reunio so, julga-se, parte da explicao para a obser-
vao de que a composio das comunidades difere em lugares distin-
tos. Estes ensembless podem ter composies variveis no tempo e no
espao, tanto em nmero de espcies quanto na abundncia de cada
uma. Quando uma espcie entra numa comunidade, mais provvel
que ela pertena a um grupo funcional ainda no representado at que
todos os grupos funcionais estejam presentes. Ento, um novo ciclo se
inicia com uma segunda espcie entrando em um dos grupos funcio-
nais j existentes e assim por diante, at completar o ciclo. No entanto,
parece que existem regras de entrada uma vez que a combinao de
espcies j existentes pode impedir, ou favorecer, a entrada de novas
espcies. Uma comunidade que tem seu habitat alterado perder esp-
cies, e isto pode implicar em modicaes do habitat. Por exemplo, caso
a perda seja tal que, somente as espcies vagabundas permaneam, a
comunidade poder permanecer com baixa diversidade.
6. Diversidade
Biodiversidade uma contrao da expresso diversidade biolgica.
Diversidade a condio ou qualidade de ser diverso, de ter componen-
tes diferentes em um conjunto. Biodiversidade, ou simplesmente diver-
sidade, engloba vrias diversidades
20
. Em geral, ela signica a riqueza
de espcies, isto , quantas espcies existem em um local, regio ou no
mundo. Mas o conceito refere-se a trs nveis de diversidade biolgica:
a diversidade intraespecca (dentro da mesma espcie), entre espcies
e entre comunidades. Talvez seja prefervel denominar estes nveis de
gentico, organismal e ecolgico
20
.
Os organismos de uma dada espcie diferem em suas caractersticas
hereditrias. Para cada gene considerado existem vrios alelos variantes
deste gene, o que implica em caractersticas diversas na populao. Dado
um locus gnico (ou mais simplesmente, um gene), sua diversidade (H
e
)
a chance de que dois alelos ao acaso sejam diferentes. Formalmente
tem se:
H
e
= 1- p
i
2
, onde p
i
a freqncia do isimo alelo
A anlise da diversidade gentica baseia-se neste conceito
21
. Vrios
fenmenos podem diminuir a diversidade gentica como, por exemplo,
populaes muito pequenas. A diversidade gentica fundamental para
que uma espcie possa existir no tempo e no espao. A seleo natural
atua a partir desta diversidade, aumentando a freqncia dos alelos que,
numa dada situao ambiental, aumentam sua aptido darwiniana. Des-
ta maneira, em cada momento ou lugar uma populao ter freqncias
diferentes dos vrios alelos de um gene. Quando a situao diferente,
outros alelos podem ser favorecidos e ento, a freqncia muda. Assim
sendo, a manuteno da diversidade gentica fundamental para a con-
tnua existncia da espcie, bem como para sua evoluo.
31
Existe diversidade de habitats em funo da heterogeneidade
do ambiente fsico. Desta forma, as comunidades so reunies hete-
rogneas, pois os organismos ocupam o espao de acordo com as
condies fsicas de cada ponto e com os outros organismos que l
existem. H, portanto, uma estruturao da comunidade
22
. Esta comuni-
dade, como um ensemble, tem uma diversidade de espcies.
Numa escala maior pode-se observar grandes conjuntos de comu-
nidades com caractersticas similares, mas diferindo de outros conjuntos
equivalentes, formando o que se denomina de diversidade de ecossiste-
mas ou, mais apropriadamente, a biodiversidade de comunidades.
A diversidade organismal refere se diversidade de espcies e pode
ser tratada por diferentes componentes, por exemplo, local ou regional,
tambm tratados como diversidade alfa () referente diversidade local
ou gama () referente diversidade regional
23
. A diversidade local dada
pelo nmero de espcies encontradas em uma determinada rea de rela-
tiva homogeneidade ambiental, ou seja, composta pelo mesmo tipo de
habitat. Essa diversidade certamente inuenciada pela denio de
habitat, rea e esforo de amostragem nas coletas dos organismos ali
presentes.
A diversidade regional, por sua vez, dada pelo nmero total
de espcies encontradas em todos os tipos de habitat de uma regio.
Novamente esse conceito torna-se malevel de acordo com as
denies de regio. Geralmente, os eclogos tratam como regio uma
rea geogrca sem barreiras que, efetivamente, impeam a disperso
de indivduos. Sendo assim, cabe a ressalva de que os limites de uma
regio variam de acordo com o tipo de organismo estudado
24
.
Quando cada espcie ocorre em todos os habitats de uma regio,
a diversidade e so iguais. Contudo, essa uma situao difcil de
ser encontrada em ambientes naturais, pois raramente as espcies esto
dispostas de forma to homognea no ambiente devido s diferentes
histrias de vida.
Quando algumas espcies (animais ou vegetais) ocorrem em
apenas alguns habitats particulares, tem se valores diferentes de diver-
sidades locais, caso em que a diversidade regional passa a ser o produto
da mdia das diversidades locais e do nmero de habitats presentes. A
esse componente d-se o nome de diversidade beta (), tambm conhe-
cida como turnover de espcies. A diversidade , portanto, fornece a
variao na composio de espcies entre uma localidade e outra.
Existem diversas maneiras de se estimar a diversidade . Uma
maneira simples identicar o nmero de habitats ocupados pelas
espcies da regio
24
. Quando todas as espcies presentes so generalis-
tas, existe, efetivamente, apenas um habitat e a diversidade , igual a
1. medida que ocorre uma especializao das espcies, mais habitats
so reconhecidos, aumentando o valor da diversidade . No entanto, se
a sobreposio entre as espcies for muito grande, esse mtodo pode
tornar-se pouco preciso. Ento, a diversidade beta poder ser estimada
simplesmente pela razo entre a diversidade gama e a alfa ( = / ).
32
F
r
a
g
m
e
n
t
a
o
:
a
l
g
u
n
s
c
o
n
c
e
i
t
o
s
7. Fragmentao
Fragmentao o processo de separar um todo em partes.
Fragmento, portanto, uma parte retirada de um todo. No contexto
deste livro, considera-se fragmentao como sendo a diviso em partes
de uma dada unidade do ambiente, partes estas que passam a ter
condies ambientais diferentes em seu entorno. Em geral, quando se
fala em fragmentao pensa-se numa oresta que foi derrubada, mas
que partes dela foram deixadas mais ou menos intactas. Entretanto, a
fragmentao pode referir-se s alteraes no habitat original, terrestre
ou aqutico. Neste caso, a fragmentao o processo no qual um
habitat contnuo dividido em manchas, ou fragmentos, mais ou menos
isoladas
25
.
Os fragmentos so afetados por problemas direta e indiretamente
relacionados fragmentao
26
, tal como o efeito da distncia entre os
fragmentos, ou o grau de isolamento; o tamanho e a forma do fragmen-
to; o tipo de matriz circundante e o efeito de borda. O tamanho e a forma
do fragmento diferem do habitat original em dois pontos principais:
1) os fragmentos apresentam uma alta relao borda/rea e, 2) o cen-
tro de cada fragmento prximo a uma borda.
O processo global de fragmentao de habitats , possivelmente, a
mais profunda alterao causada pelo homem ao meio ambiente. Muitos
habitats naturais que eram quase contnuos foram transformados em
paisagens semelhantes a um mosaico, composto por manchas isoladas
de habitat original. Intensa fragmentao de habitats vem acontecendo
na maioria das regies tropicais
27
. Para Harrison
10
, existem trs principais
categorias de mudanas que tm se tornando freqentes nas orestas
do mundo: 1) a reduo na rea total da oresta; 2) a converso de
orestas, naturalmente estruturadas, em plantaes e monoculturas e, 3)
a fragmentao progressiva de remanescentes de orestas naturais em
pequenas manchas, isoladas por plantaes ou pelo desenvolvimento
agrcola, industrial ou urbano. um processo que ocorre na Europa
desde h muito tempo e que aumentou, particularmente, a partir do
Sculo XIX. Este mesmo processo vem ocorrendo no Brasil desde sua
conquista pelos europeus.
8. Fragmentao e habitats
Considerando a fragmentao como a alterao de habitats, o
resultado deste processo a criao, em larga escala, de habitats ruins,
ou negativos, para um grande nmero de espcies. Este fato pode ser
exemplicado pela simulao mostrada na Figura 3.
O mapa mostra a distribuio da qualidade de habitat numa regio
com a vegetao original, em relao a uma espcie hipottica. A maior
parte da rea pode ter populaes desta espcie, as quais, em condies
de recursos favorveis, podem atingir sua abundncia mxima ou algo
prximo disto. Os eventuais excessos de populaes podem sobreviver
nas reas de habitat de menor qualidade. Nesta simulao, quase metade
33
da rea tem habitats bons e a rea com habitats negativos, desprezvel
(Tabela 2), bem como o efeito de borda.
Habitats de uma regio no alterada em relao aptido de uma dada espcie. Situao
Inicial. Nesta simulao v-se a distribuio da qualidade dos habitats.
Fig.3
Situao inicial
Qualidade do habitat rea % da rea
Bom 38,77 47,86
Ruim 41,49 51,22
Negativo 0,74 0,91
Imediatamente aps o desmatamento
Qualidade do habitat rea % da rea
Bom 12,19 15,05
Ruim 43,90 54,20
Negativo 24,91 30,75
Algum tempo aps o desmatamento
Qualidade do habitat rea % da rea
Bom 5,23 6,46
Ruim 30,22 37,31
Negativo 45,55 56,23
Tabela 2. Mudanas na qualidade do habitat em rea sujeita fragmentao. Os dados correspondem
anlise das reas das Figuras 3 a 5. A rea total em todas as guras de 81ha Habitats com w>0,55 foram
considerados bons; 0,55<w>0,05 ruins e, w<0,05 negativos, onde w a aptido.
34
F
r
a
g
m
e
n
t
a
o
:
a
l
g
u
n
s
c
o
n
c
e
i
t
o
s
Na Figura 4, tem-se o efeito do desmatamento logo aps sua
ocorrncia. A parte negativa sobe para praticamente um quarto da rea e
a rea boa reduzida em 12,19%. O desmatamento foi ao acaso. Mesmo
assim, a aptido possvel a um indivduo de uma espcie hipottica,
reduz-se muito. Isto signica a diminuio da probabilidade de cada
indivduo de sobreviver at a idade reprodutiva e reproduzir-se. Assim
sendo, a abundncia da espcie na regio diminui proporcionalmente
diminuio da rea de habitat no negativo.
Na Figura 5, v-se o que acontece algum tempo aps o desmatamen-
to. Mesmo que a derrubada de rvores cesse, vrios efeitos ocorrem nos
fragmentos causando modicaes na qualidade do habitat para a esp-
cie aqui considerada. A rea de habitat negativo muito grande (Tabela
2) e est distribuda de tal forma, que os indivduos gastam muito tempo
buscando reas no negativas. Como visto, a aptido mdia de um dado
indivduo diminui muito na regio toda vez que ele tem que gastar mais
tempo em reas de m qualidade ou em reas negativas. Nesse caso, o
efeito de borda passa a ser signicativo.
A fragmentao, portanto, implica na restrio da aptido de certas
espcies na rea fragmentada. No entanto, reas negativas para uma
espcie podem ser de boa qualidade para outras. Nem todas as esp-
cies so afetadas da mesma forma pelo processo de fragmentao.
Mas, com certeza, este processo muda os mesohabitats e microhabitats
disponveis, bem como todas as espcies e, portanto, todas as comuni-
dades so afetadas.
Alm da reduo do tamanho de habitat, o desmatamento e a
fragmentao levam modicao do habitat remanescente devido
Habitats de uma regio, imediatamente aps o desmatamento, ou a fragmentao, em relao
aptido de uma dada espcie. A regio mostrada na Figura 1 depois de removida a vegetao
original de uma grande rea, restando apenas fragmentos. Note-se que no apenas a quanti-
dade de habitats bons diminui, mas tambm a qualidade destes inferior s mesmas reas em
condies originais.
Fig.4
35
Habitats de uma regio depois da fragmentao em relao aptido de uma dada espcie.
Algum tempo depois do desmatamento. A regio mostrada na Figura 2 depois de mais tempo
tem diminuda ainda mais a rea de habitats de boa qualidade, mesmo que a rea dos fragmen-
tos seja a mesma.
Fig.5
inuncia dos habitats alterados criados ao seu redor o chamado efeito
de borda. Estas alteraes na borda do fragmento podem ser de nature-
za abitica (microclimticas), bitica direta (distribuio e abundncia
de espcies) ou indireta (alteraes nas interaes entre organismos),
causadas pelo contato da matriz com os fragmentos, propiciadas pelas
condies diferenciadas do meio circundante desta vegetao
28
. Muitas
evidncias empricas sugerem que, pelo menos no mdio prazo, estas
mudanas qualitativas no habitat remanescente causam alteraes das
comunidades biolgicas, em muitos casos mais evidentes do que a
reduo do tamanho das populaes
29
.
9. Fragmentao e populaes
A diminuio da rea de habitat favorvel a uma determinada
espcie, leva a uma menor abundncia regional desta espcie, j que
a diminuio da aptido signica menores taxas de sobrevivncia e
reproduo. Uma rea menor de habitat de boa qualidade acarreta
menores populaes e, eventuais excedentes populacionais migram
para outras reas, onde passam a competir com as populaes residen-
tes ou ento, podem deslocar-se para reas de m qualidade.
Na Tabela 2, tem-se a conseqncia, em rea, da mudana de habitats
na simulao das Figuras 3 a 5. Pode-se supor que a densidade absoluta
da espcie, ou seja, o nmero de indivduos por rea, seja proporcio-
nal qualidade do habitat. Assim, habitats melhores podem ter maior
densidade absoluta. Se a rea de habitats bons diminuir, a abundncia
36
F
r
a
g
m
e
n
t
a
o
:
a
l
g
u
n
s
c
o
n
c
e
i
t
o
s
total diminuir na mesma proporo. Se os habitats de menor qualidade
tambm diminuem, menor ser a abundncia regional da populao. As
reas de qualidade negativa so aquelas onde as populaes da espcie
no podem subsistir. O aumento da rea negativa traz conseqncias
metapopulacionais importantes, dicultando, ou mesmo impedindo, os
movimentos migratrios na metapopulao. Muitas vezes, as popula-
es locais cam isoladas e as distncias so to grandes que o mov-
imento entre as manchas de habitat mais ou menos favorveis, pode
tornar-se impossvel. Assim, na medida em que as populaes locais
so extintas, no h repovoamento. No limite, muitas espcies podem
car restritas a uma, ou a algumas manchas e sua extino torna-se uma
questo de tempo.
O processo de fragmentao causado pelo homem tem como carac-
tersticas principais a sua ocorrncia em grande escala de espao numa
pequena escala de tempo. Durante o processo, as manchas de habitat
remanescentes, os fragmentos, ao acaso vo desfavorecer as espcies
cujas manchas tenham sido destrudas em maior quantidade.
A distncia entre os fragmentos e o isolamento entre estes, so
responsveis pelo grau de conectividade entre os fragmentos e o habi-
tat contnuo. Populaes de plantas e animais em fragmentos isolados
tm menores taxas de migrao e disperso e, em geral, com o tempo
sofrem problemas de troca gnica e declnio populacional.
Uma conseqncia teoricamente importante a estrutura gentica
da populao isolada em um fragmento. A diversidade gentica pode
manter-se desde que nenhum gene seja perdido. Genes podem ser
mantidos se os alelos forem recessivos e estiverem presentes devido
heterozigosidade. Por exemplo, um gene com dois alelos, a e A, podem
existir como aa, AA e Aa. Mesmo que haja uma freqncia baixa de aa
por no ser uma combinao favorecida pela seleo natural, o alelo a
poder continuar existindo em baixa freqncia quando estiver na com-
binao Aa, pois o fentipo favorecido seria o dominante. No entanto,
ao acaso, num processo denominado deriva gentica, o alelo recessivo
pode ser eliminado da populao. Como em geral, existem mais alelos
(por exemplo, A
1
A
2
a
1
a
2
), o nmero de combinaes pode ser maior
do que trs. Ao acaso, alguns destes alelos podem perder-se em uma
populao, pois alguns indivduos com uma dada combinao podem
no estar reproduzindo e o alelo pode desaparecer na gerao seguinte.
Assim, a deriva pode diminuir a diversidade gentica. Eventualmente, os
alelos perdidos podem ter combinaes favorecidas pela seleo natural
e sua perda signica a diminuio da aptido mdia da populao. Os
eventos de migrao dentro da metapopulao acabam fazendo com
que as freqncias sejam similares nas populaes envolvidas. De vez
em quando, uma populao pode simplesmente extinguir-se localmente
como resultado da deriva gentica. Caso exista diculdade na migrao
devido ao processo de fragmentao, existir tambm diculdade no
uxo gnico entre as populaes da regio e, conseqentemente, extin-
es locais sero mais freqentes.
As extines locais devidas deriva gentica no representam
maiores problemas se o habitat favorvel puder ser recolonizado. Mas
se a recolonizao for difcil ou impossvel, o resultado ser a diminuio
na abundncia regional da espcie.
37
10. Fragmentao e espcies raras
Existem causas variadas para a raridade, uma delas a alta espe-
cializao em termos de habitat ou de nichos restritos
12
. A diminuio
da rea de habitat de boa qualidade para uma espcie rara afeta muito
suas chances de continuar existindo. Por exemplo, o mico-leo-dourado
uma espcie que tem preferncia por orestas paludosas como habi-
tat
30
, que era muito comum nas baixadas costeiras do Estado do Rio de
Janeiro, mas no era contnuo. A espcie pode sobreviver nas orestas
de baixadas utilizando-as como habitats no timos e, portanto, foi
possvel manter sua metapopulao. O processo relativamente recente
(cerca de 30 anos) de drenagem das reas baixas levou a diminuio
drstica de seus habitats melhores, ao mesmo tempo em que as ores-
tas de terras secas tambm foram derrubadas. A espcie endmica das
orestas de baixadas uminenses. O processo de alterao dos habitats
da regio levou-a a tornar-se rara por qualquer conceito que se tenha
de raridade e ela, hoje, est criticamente ameaada de extino
30
. Este
exemplo mostra de maneira clara, uma possvel conseqncia do pro-
cesso de fragmentao que pode criar espcies raras ou mesmo, lev-las
extino.
11. Fragmentao e comunidades
As regras de reunio de espcies em comunidades indicam que
existem condies gerais de macrohabitat que, por sua vez, esto deter-
minando hierarquicamente os meso e microhabitats regionais. Assim,
numa dada regio, certas comunidades podem montar-se caso existam
habitats que o permitam e elas sero distintas dependendo dos meso-
habitats existentes
31
.
As regras de montagem no so necessariamente rgidas. Por
exemplo, certas espcies com um determinado papel funcional na
comunidade podem ser substitudas por outras com funes similares
ou prximas. Uma espcie pode ter uma restrio grande de micro ou
mesohabitat
32
ou pode transitar com facilidade entre os mesohabitats
existentes
33,34,35
. No entanto, quando as condies originais so
amplamente alteradas, aproximando-se do modelo da Figura 5, comea
haver perda de espcies e a comunidade restante ca empobrecida (ver
exemplo na referncia 18). No entanto, mesmo com a perda de espcies
os fragmentos podem conservar parte da comunidade original, mas as
diculdades criadas pela distncia entre os fragmentos, assim como
a diminuio de habitats, freqentemente, dicultam a existncia de
reas demonstrativas da reunio original, mesmo quando existe alguma
conectividade entre os fragmentos originais
36
.
38
F
r
a
g
m
e
n
t
a
o
:
a
l
g
u
n
s
c
o
n
c
e
i
t
o
s
12. Fragmentao e diversidade
Como visto, as regras de montagem dizem que a entrada de esp-
cies dicultada ou facilitada pelas espcies j presentes. A perda de
habitats levando ao desaparecimento de algumas espcies pode impedir
outras de persistirem ou de recolonizarem o fragmento. Algumas esp-
cies com papel funcional mltiplo podem tambm dicultar, ou impedir,
que outras espcies persistam ou recolonizem determinado fragmento.
Dependendo do tamanho do fragmento, algumas espcies podem no
subsistir, pois necessitam de reas maiores para seus movimentos
37,38
. O
resultado o depauperamento da diversidade. Um estudo muito interes-
sante feito em diversos fragmentos orestais em Minas Gerais, mostrou
perda de diversidade em fragmentos menores, isto , foi observado um
menor nmero de espcies num dado fragmento do que seria de se
esperar pela diversidade da regio. O estudo indicou que isto se deve
ao aumento de uma determinada espcie com papel mltiplo, no caso o
gamb (Didelphis aurita), que parece competir com vrias outras sendo
tambm um predador
33
.
A perda de diversidade local no implica, necessariamente, na
extino regional de espcies, mas na perda de diversidade propria-
mente dita. Quer dizer, mesmo que o processo de fragmentao no
diminua a riqueza de espcies da regio (a diversidade ), a eqitabili-
dade ser diminuda e boa parte dos fragmentos ter uma riqueza menor
do que a existente antes da fragmentao.
13. As conseqncias possveis da fragmentao
Os fenmenos e processos biolgicos so alterados quando ocorre
fragmentao. Perde-se diversidade e isto implica na perda de grupos
funcionais em muitos lugares. Os sistemas ecolgicos so simplicados
e, no longo prazo, h um certo temor de que essa perda se acentue.
Vrios servios ambientais so prestados pelos ecossistemas socie-
dade humana. A alterao dos ecossistemas leva perda de muitos
destes servios com conseqncias deletrias tanto no mdio quanto no
longo prazo. Algumas so j claramente visveis em nosso pas, como
a diminuio dos estoques pesqueiros das guas interiores e alteraes
nos regimes hdricos.
Como o pas tem uma grande diversidade de paisagens e, portanto,
de sistemas ecolgicos, comunidades e espcies, os processos so tam-
bm diversos e, somente nos ltimos anos, com o desenvolvimento de
vrios estudos sobre o assunto, passou-se a ter um melhor entendimen-
to destes processos. No restante deste volume so detalhados alguns
destes estudos, a partir dos quais o leitor ter uma introduo do grave
problema da fragmentao no pas.
39
Referncias bibliogrcas
1. MACARTHUR, R & PIANKA, E. R., 1966, On optimal use of a patchy
environment. Am. Nat. 100:603-609.
2. MACARTHUR, R. & LEVINS, R., 1964, Competition, habitat selection,
and character displacement in a patchy environment. Proc. Nat. Acad.
Sci. U. S. 51:1207-1210.
3. CERQUEIRA, R., 1995, Distribuies potenciais In: P.R. Peres; J. L.
Valentin & F. A. S. Fernandez (Orgs.) Tpicos em tratamento de dados
biolgicos. PPGE/UFRJ, Rio de Janeiro.
4. GEIGER, R., 1980, Manual de microclimatologia. O clima da camada do
ar junto ao solo. Fundao Calouste Gulbenkian, Lisboa.
5. ROSENSWEIG, M. L., 1981, A theory of habitat selection. Ecology 62:
327-335.
6. KELT, D. A.; MESERVE, P. L.; PATTERSON, B. D. & LANG, B. K., 1999,
Scale dependence and scale independence in habitat associations of
small mammals in southern temperate rainforest. Oikos 85:320-334.
7. TAYLOR, R.A.J. & TAYLOR, L.R., 1979, A behavioral model for the
evolution of spatial dynamics. In: Anderson, R.M. et al. (Eds.). Population
dynamics. Blackwell, Oxford.
8. LEVINS, R., 1969, Some demographic and genetic consequences of
environmental heterogeneity for biological control. Bull. Entomol. Soc.
Amer. 15:237-240.
9. LEVINS, R., 1970, Extinction. Lect. Notes Math. 2:75-107.
10. HARRISON, S., MURPHY, D. D. & EHRLICH, P. R., 1988, Distribution of
the Bay Chekerpot Buttery Euphydryas editha bayensis: evidence por a
metapopulation model. Am. Nat. 132:360-382.
11. WHITTAKER, R. J. 1998. Island biogeography. Ecology, evolution,
and conservation. Oxford: Oxford University Press.
12. GASTON, K. J., 1994, Rarity. Chapman & Hall, London.
13. CAUGHLEY, G., 1977, Analysis of vertebrate populations. John Wiley
& Sons, Chichester.
14. BEGON, M.; HARPER, J. L. & TOWNSEND, C. R., 1966, Ecology. Indi-
viduals, populations and communities. Oxford: Blackwell Science.
15. STRONG, D. R.; SIMBERLOFF, D.; ABELE, L. G. & THISTLE, A. B.
(Ed.), 1984, Ecological communities: conceptual issues and the evidence.
Princeton: Princeton University Press.
16. SUGIHARA, G., 1980, Minimal community structure: an explanation
of species abundance patterns. Am. Nat. 116:770-787.
17. WHITTAKER, R. H.; LEVIN, S. A. & ROOT, R. B. 1973. Niche, habitat,
and ecotope. Am. Nat. 107:321-338.
18. SIMBERLOFF, D.; STONE, L. & DAYAN, T. (Eds.), 1999, Ruling out a
community assembly rule: the method of favored states In WEHIR, E.
& KEDDY, P. (Eds.), Ecological assembly rules. Perspectives, advances,
retreats. Cambridge University Press, Cambridge.
19. WEHIR, E. & KEDDY, P. (Eds.), 1999, Ecological assembly rules. Pers-
pectives, advances, retreats. Cambridge University Press, Cambridge.
20. HARPER, J. L. & HAWKSWORTH, D. L., 1995, Preface In Hawksworth,
D. L. (Ed.) Biodiversity. Measurement and estimation. The Royal Society
and Chapmann & Hall, London.
21. CHARLESWORTH, D. & PANNELL, J. R., 2001, Mating systems
and population genetic structure in the light of coalescent theory. In:
Silverton, J. & Antonovics, J. (Eds.), Integrating ecology and evolution in
a spatial context. Blackwell Science, Oxford.
22. LAW, R.; PURVES, D.W.; MURREL, D.J. & DIECKMANN, U., 2001,
Causes and effects of small scale spatial structure in plant populations.
In: Silverton & Antonovics (Eds.), 2001, Integrating ecology and evolution
in a spatial context. Blackwell Science, Oxford.
23. WHITTAKER, R. H. 1972. Evolution and mesurament of species diver-
sity. Taxon 21: 213-251.
24. RICKLEFS, R. E., 1996, Ecology. 4 ed. Freemam, New York, 822 pp.
25. SHAFER, 1990. Nature Reserves: Island Theory and Conservation
Practice. Smithsonian Institution Press, Washington.
26. BIERREGAARD-JR, R.O., LOVEJOY, T. E., KAPOS, V., SANTOS, A. A.,
HUTCHINGS, R. W., 1992, The Biological Dynamics of Tropical Rain-
forest Fragments. BioScience. 42:859-866.
27. HARRIS, L. D., 1984, The fragmented forest. The University of Chi-
cago Press, Chicago.
28. MURCIA, C., 1995, Edge effects in fragmented forests: implications
for conservation. Trends Ecol. Evol., 10:58-62.
29. DAVIES, K.F., GASCON, C. & MARGULES, C.R., 2001, Habitat frag-
mentation: consequences, management and future research priorities. In:
M.E. Soul, & Orians, G.H. (Eds.), Conservation Biology - Research Priori-
ties for the Next Decade. Washington: Island Press, Washington, DC.
30. CERQUEIRA, R.; MARROIG, G. & PINDER, L., 1998, Marmosets and
Lion-tamarins distribution (Callithrichidae, Primates) in Rio de Janeiro
State, South-eastern Brazil. Mammalia 62:213-226.
31. BONVICINO, C. B.; CERQUEIRA, R. & SOARES, V. A., 1996, Habitat
use by small mammals of Upper Araguaia river. Rev. Brasil. Biol. 56:
761-767.
32. CERQUEIRA, R., 2000, Ecologia funcional de mamferos numa
restinga do Estado do rio de Janeiro. In: F.A. Esteves & L. D. Lacerda
(Orgs.), Ecologia de restingas e lagoas costeiras. NUPEM/UFRJ, Rio de
Janeiro.
33. FREITAS, S. R.; MORAES, D.; A.; SANTORI, R. & CERQUEIRA, R.,
1997, Habitat preference and food use by Metachirus nudicaudatus and
Didelphis aurita (Marsupialia, Didelphidae) in a restinga forest at Rio de
Janeiro, Brazil. Rev. brasil. Biol. 57:93-98.
34. GENTILE, R & CERQUEIRA, R., 1995, Movement patterns of ve species
of small mammals in a Brazilian restinga. J. Trop. Ecol. 11:671-677.
35. PIRES, A.; LIRA, P.K.; FERNANDEZ, F.; SCHITTINI, G. M., & OLIVEIRA,
L. C., no prelo, Frequency of movements of small mammals among
Atlantic Coastal Forest fragments in Brazil. Conserv. Biol.
36. BRIANI, D. C.; SANTORI, R. T.; VIEIRA, M. V. & GOBBI, N., 2001,
Mamferos no voadores de um fragmento de mata mesta semidecdua,
do interior do Estado de So Paulo, Brasil. Holos 1:141-149.
37. CERQUEIRA, R.; GENTILE, R. & GUAPYASS, S. M. S., 1995, Escalas,
amostras, populaes e a variao da diversidade. In: F. A. Esteves & I.
Garay (Orgs.) Estrutura, funo e manejo de ecossistemas. PPGE/UFRJ,
Rio de Janeiro.
38. COIMBRA, C., 1991, O primeiro autovalor como medida de qualidade
ambiental. Atas Encontro Regional SBMAC:17-20.
Causas da fragmentao
s
e
o
I
I
43
2
CAUSAS NATURAIS
Reginaldo Constantino
Ricardo Miranda de Britez
Rui Cerqueira
Evaldo Luiz Gaeta Espindola
Carlos Eduardo de Viveiros Grelle
Ana Tereza Lyra Lopes
Marcelo Trindade Nascimento
Odete Rocha
Antonio Augusto Ferreira Rodrigues
Aldicir Scariot
Anderson Cssio Sevilha
Gilberto Tiepolo
44
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
Introduo
Habitats fragmentados ou ilhas de habitats diferenciados podem ser
produzidos por vrios processos naturais, sendo importante distinguir
esses isolados naturais dos fragmentos produzidos pela ao humana.
Alguns fragmentos naturais mais antigos contm espcies endmicas
devido ao longo tempo de isolamento, podendo ser considerados reas
prioritrias para conservao. Alm disso, alguns sistemas de fragmen-
tos naturais podem ser utilizados como modelo para estudar os efeitos
de longo prazo da fragmentao antrpica, porque neles as extines e
alteraes genticas j se estabilizaram.
Os fatores e processos que produzem fragmentos naturais so:
1) Flutuaes climticas, que podem causar expanso ou retrao
de determinados tipos de vegetao;
2) Heterogeneidade de solos, com certos tipos de vegetao restritos
a tipos especcos de solos como, por exemplo, as matas calcrias;
3) Topograa, que pode formar ilhas de tipos especcos de vege-
tao em locais elevados, como os brejos de altitude no nordeste do
Brasil;
4) Processos de sedimentao e hidrodinmica em rios e no mar;
5) Processos hidrogeolgicos que produzem reas temporariamente
ou permanentemente alagadas, onde ocorrem tipos particulares de
vegetao.
Esses fatores podem agir isoladamente ou combinados; alguns
fragmentos naturais resultam da combinao de utuaes climticas no
passado, altitude e tipo de solo. Esse processo dinmico, mas ocorre
num perodo de tempo muito mais longo que a fragmentao causada
pelo homem. Numa escala geolgica de tempo, a fragmentao natural
causa isolamento de populaes, o que pode levar diferenciao
gentica e especiao. A fragmentao natural , historicamente,
importante na gerao da diversidade biolgica.
Neste captulo ser discutido o processo de fragmentao natural
e sero apresentados alguns exemplos de fragmentos naturais que tm
sido estudados no Brasil: as Savanas Amaznicas, os Brejos de Altitude
do Nordeste, as Matas Alagadas, as Florestas Estacionais Deciduais, os
Capes de Mata de Araucria, os habitats de Aves Limcolas e a Frag-
mentao Natural de Ambientes de gua Doce.
1. Flutuaes ambientais, fragmentao dos habitats
e seus efeitos na distribuio das espcies
A distribuio geogrca das espcies inuenciada pelas
mudanas ambientais
1,2,3,5
que podem ocorrer em diferentes escalas de
tempo (evolutiva e ecolgica) e de espao (local, regional e global).
Existem registros de que as utuaes climticas ocorridas durante
o Tercirio e o Quaternrio tiveram grande importncia no s nos
padres de distribuio geogrca das espcies, como tambm na espe-
45
ciao de alguns grupos na Amrica do Sul
1,6,7
. Existem muitas hipteses
para explicar a diversicao de formas na regio Neotropical, mas os
processos aloptricos e paraptricos parecem ter sido os mais impor-
tantes para as especiaes (veja Marroig & Cerqueira
7
para uma breve
reviso).
As oscilaes do nvel do mar e as mudanas climticas que
aconteceram durante o Tercirio e o Quaternrio provocaram des-
continuidade dos habitats, fragmentando orestas e outros tipos de
vegetao. A cada momento desses perodos, um padro diferente
de habitat existiu e mesmo hoje existem habitats descontnuos. Estas
mudanas so vistas como explicaes para os padres de diversicao
e distribuio das espcies na Amrica do Sul
1,4,7
. Nos anos 70 e 80
acreditava-se inclusive, que os processos aloptricos ocorridos durante
o Pleistoceno teriam sido os mais importantes para a especiao
1,8
.
Contudo, a descontinuidade - ou fragmentao - dos habitats pode
levar muitas espcies extino
9
. Tanto a especiao quanto extino
podem ser conseqncias da fragmentao dos habitats. Tudo depende
do tempo em que, por exemplo, uma oresta ca isolada, do tamanho
que adquire e do grupo taxonmico considerado
1
.
Os limites de distribuio por altitude das espcies, da mesma forma
que a distribuio latitudinal, podem estar associados s mudanas
climticas e vegetacionais observadas em gradientes de altitude. Alguns
estudos apontam para um padro recorrente em algumas espcies
de plantas e vertebrados, pois quanto maior a altitude mdia de
distribuio de uma espcie, maior a amplitude de altitude observada,
embora ocorram excees. A hiptese em questo seria de que durante
as glaciaes pleistocnicas, quando o clima era mais frio e seco do que
atualmente
1
, teria acontecido uma diminuio das reas onde as espcies
poderiam ocorrer. Em latitudes elevadas, como no sul da Amrica do
Sul, parte das reas teria cado coberta por gelo, principalmente durante
o perodo Wrmiano
10
. Um dos possveis resultados deste processo
seria o desaparecimento das espcies com distribuio geogrca
restrita. Com isto, as espcies com ampla distribuio altitudinal seriam
selecionadas, resultando em uma correlao positiva entre tamanho da
distribuio geogrca e a altitude
11
.
Num estudo feito durante o Projeto Fragmentao Sutil com alguns
primatas endmicos da Mata Atlntica encontrou-se uma relao positiva
entre a amplitude de distribuio por altitude das espcies e sua altitude
mdia (Figuras 1 e 2). O padro de distribuio da altitude de ocorrncia
encontrado para esses primatas, sugere que as utuaes climticas do
Quaternrio no sudeste brasileiro (revistas recentemente por Behling
12
,
Behling & Lichtee
13
, Safford
14
), podem ter inuenciado a distribuio
por altitude, ou at ocasionado extines diferenciais entre os primatas
endmicos da Mata Atlntica
15
. Estudos paleoclimticos indicam que a
temperatura oscilava entre 4
o
a 7
o
C abaixo da temperatura mdia atu-
al
12,13,16,17
. Estudos realizados por Clapperton e outros autores
18
indicam
que uma reduo de 3
o
C durante o Quaternrio, seria o suciente para
a formao de gelo nos Andes Equatoriais, em locais onde hoje no h
mais gelo. Alguns estudos sugerem ainda que os topos das montanhas
do sudeste brasileiros estiveram congelados durante parte do Quatern-
rio
19
. possvel que as geadas tenham sido mais freqentes nas monta-
nhas do sudeste brasileiro do que hoje em dia, quando ocorrem apenas
eventualmente. De qualquer forma, a idia subjacente a esta hiptese
46
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
indica que as espcies tiveram que sobreviver a pocas mais frias do
que as atuais, o que pode ter sido mais limitante em altitudes eleva-
das. Seguindo este raciocnio, pode-se imaginar que somente as esp-
cies com ampla distribuio altitudinal resistiram situao extrema de
congelamento parcial dos seus habitats. O resultado dessas utuaes
climticas reetiria no padro encontrado hoje, no qual as espcies de
altitudes mdias mais elevadas podem suportar maiores oscilaes do
clima.
Os efeitos das utuaes climticas na distribuio por altitude dos
primatas ganham fora quando se junta a informao de que a linha
de rvores (limite superior de ocorrncia de rvores com aumento da
altitude) desceu durante as glaciaes
14,16
. No se sabe com exatido o
quanto, mas h indcios de que a linha de rvores tenha descido mais
de 1.000m de altitude nos Andes
16
e no sudeste brasileiro
14
. Sendo
assim, espcies fortemente dependentes de habitats orestais como os
primatas, tiveram que necessariamente descer das montanhas durante
as glaciaes. Essa mudana na linha de rvores provavelmente explica
porque s algumas espcies de roedores e marsupiais ocorrem nos
topos das montanhas do sudeste. Algumas espcies de roedores tm
Amplitude de distribuio das altitudes dos primatas endmicos da Mata Atlntica, ordenados
seguindo uma ordem crescente de aumento nas altitudes mdias. O ponto representa a altitude
mdia e as retas indicam a amplitude. Adaptado de Grelle
15
.
Fig.1
Relao entre a amplitude altitudinal dos primatas endmicos da Mata Atlntica e o ponto
mdio da altitude. Adaptado de Grelle
15
.
Fig.2
47
sido coletadas exclusivamente nas partes altas (inclusive nos campos
de altitude) das serras dos Parques Nacionais de Itatiaia, da Serra dos
rgos e do Capara
20,21
. A hiptese seria de que esses roedores, por
serem cursoriais, conseguiram permanecer nas montanhas mesmo sem
as rvores. No caso de ter ocorrido gelo no topo das montanhas, essas
espcies teriam que ter recolonizado as partes altas das montanhas nas
fases mais quentes. De qualquer forma, curioso notar que as mon-
tanhas do sudeste brasileiro eram cobertas por gramneas durante os
perodos mais secos e frios do Quaternrio
12,13
o que, sem dvida, propi-
ciou a colonizao de roedores cursoriais.
H, portanto, uma forte inuncia das mudanas ambientais na
extino e na especiao. Segundo Cerqueira
1,2
, as alteraes climticas
foram um fator determinante nesses fenmenos durante o Quaternrio.
Mas a fragmentao quaternria levou formao de fragmentos de
tamanho suciente para que as espcies pudessem subsistir, j que
cada espcie tem tamanho de rea e de distribuio geogrca mnimos
para no se extinguir. Alm disso, estes fragmentos quaternrios,
funcionando como refgios, em muitos casos persistiram por bastante
tempo e depois coalesceram formando as grandes orestas do Brasil
(Amaznia e Floresta Atlntica), h cerca de 10.000 anos.
Isso difere do processo de fragmentao antrpica de hoje, pois
muitos fragmentos so de tamanho pequeno e sofrem um processo
contnuo de variao de rea. Na verdade, a fragmentao da Mata
Atlntica recente sendo que grande parte dos desmatamentos acon-
teceu nos ltimos 100 anos
22
, e os seus efeitos sobre a biota so ainda
pouco conhecidos. possvel que esta contemporaneidade explique
parte da diculdade de se entender as conseqncias da fragmentao
na Mata Atlntica. Certamente os efeitos da fragmentao quaternria
parecem ser mais bem compreendidos do que os da fragmentao con-
tempornea.
Enm, as mudanas ambientais continuam acontecendo e atual-
mente, os fragmentos so muito pequenos e por isso mesmo, pouco
viveis no mdio e longo prazo. As conseqncias imediatas so as
perdas de variabilidade de formas e gentica, inviabilizando processos
evolutivos como a especiao (veja exemplos em Myers & Knoll )
23
. Este
um dos motivos das preocupaes atuais e mostra claramente a neces-
sidade de mudanas prementes no padro de uso do solo para que a
riqussima biodiversidade destes ecossistemas possa ser mantida.
2. Savanas amaznicas
As Savanas Amaznicas so manchas de vegetao aberta que
ocorrem em meio s orestas da regio Amaznica (Figura 3). Segundo
Pires
24
, elas cobrem cerca de 150.000km
2
. Sua sionomia semelhante
do Cerrado, com um estrato graminoso e densidade varivel de rvores
e arbustos. Muitas espcies de plantas tpicas do Cerrado tambm ocor-
rem nessas reas, como lixeira (Curatella americana), o pau-terra (Qualea
grandiora), murici (Byrsonima verbascifolia e B. crassifolia), bate-caixa
(Palicourea rigida), sucupira-preta (Bowdichia virgilioides), ip-amarelo
ou pau-darco (Tabebuia caraiba), mangaba (Hancornia speciosa), e pau-
48
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
doce (Salvertia convallariodora)
25,26
. Essas savanas ocorrem sobre vrios
tipos de solo e sob vrios regimes de chuva
27
, e muitas vezes a oresta
que as circunda est sob condies semelhantes. Isso indica que sua
presena no determinada apenas por fatores edcos e climticos.
Vrias evidncias indicam que esses fragmentos de savanas so relic-
tos de uma savana muito mais extensa (Figura 4), que cobriu boa parte
da Amaznia durante o Pleistoceno, em perodos de clima mais seco
28
.
Essa grande savana era ligada ao Cerrado, aos Llanos da Venezuela,
Caatinga e ao Chaco. Isso explicaria a existncia de espcies comuns a
todas essas vegetaes abertas.
Embora a fauna e a ora das Savanas Amaznicas sejam pouco
conhecidas, existem registros de vrias espcies endmicas
29,30
. Cada
conjunto de fragmentos de savana isolado h vrios milhares de anos,
tende a apresentar alguma diferenciao no nvel de espcies e popu-
laes. Em alguns casos a diferenciao levou ao surgimento de esp-
cies distintas, endmicas de um fragmento ou conjunto de fragmentos.
Em outros casos a diferenciao pode ser detectada geneticamente. As
Savanas Amaznicas so, portanto, reas de endemismo que merecem
ateno especial em termos de conservao. Como cada fragmento ou
grupo de fragmentos apresenta caractersticas nicas, elas no podem
ser tratadas como uma unidade uniforme.
reas de vegetao aberta so muito mais fceis de serem ocupadas
que reas de oresta devido facilidade de acesso e ao menor custo de
desmatamento. Conseqentemente, as Savanas Amaznicas esto sob
forte ameaa de ocupao por agricultura, pecuria e minerao. As
savanas da Serra dos Carajs, por exemplo, que ocorrem sob condies
edcas nicas e apresentam alto potencial de endemismo, esto
ameaadas pela minerao de ferro
31,32
. Em outras regies a pecuria
extensiva j havia se estabelecido h algum tempo e, mais recentemente
foi substituda pela monocultura intensiva de soja. Incndios so
tambm uma forte ameaa em todas essas reas. Uma prtica comum
entre os fazendeiros consiste em queimar as savanas para estimular a
rebrota de suas pastagens.
Fragmento isolado de savana (cerca de 200ha), prximo a Villhena, sul de Rondnia
R
e
g
i
n
a
l
d
o
C
o
n
s
t
a
n
t
i
n
o
Fig.3
49
As Savanas Amaznicas so, portanto, relictos de uma savana mais
extensa que ocupou boa parte da Amrica do Sul durante perodos mais
secos do Pleistoceno. Elas apresentam endemismos e esto ameaadas
pela ao humana. Essas savanas so tambm um excelente modelo
para estudar os efeitos de longo prazo da fragmentao do Cerrado,
j que os efeitos sobre a estrutura gentica de populaes e sobre a
biodiversidade esto certamente estabilizados.
A. Vegetao da Amaznia durante o ltimo perodo seco do Pleistoceno, 18.000 a 13.000 anos
atrs (baseado em Haffer28).
B. Distribuio atual aproximada das Savanas Amaznicas (baseado em vrias fontes).
Fig.4
50
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
3. Brejos de altitude do nordeste brasileiro
Os chamados brejos de altitude so fragmentos de oresta que
ocorrem em meio Caatinga na face leste do Planalto da Borborema
(Cear, Paraba e Pernambuco), na regio do agreste, uma transio
entre a Mata Atlntica e a Caatinga
33
. Apesar do nome, esses brejos no
so reas alagadas, mas sim orestas midas de altitude, que variam
entre 800 e 1.000m, aproximadamente. As massas de ar vindas do
oceano trazem alguma umidade, que condensa ao chegar a essa alti-
tude, mantendo a oresta sempre mida e verde.
A fauna e a ora dos brejos apresentam semelhanas com as da
Mata Atlntica, mas contm tambm elementos da Amaznia. Espcies
endmicas de animais
34
e plantas
35
tambm tm sido registradas, mas
informaes sobre sua fauna ainda so limitadas. A presena de esp-
cies amaznicas explicada pela ligao que teria havido no passado
entre essas reas e a Amaznia. Embora os solos dos brejos no sejam
muito frteis, eles tm sido usados para agricultura, o que tem causado
destruio de parte das orestas.
Os brejos de altitude do Nordeste so, portanto, fragmentos de o-
resta em meio caatinga resultante de relevo e padres de precipitao
e umidade.
4. Matas Alagadas
As terras midas onde esto includos os brejos, pntanos, plan-
cies de inundao e reas similares cobrem uma rea estimada de 6%
da superfcie terrestre e esto entre os ecossistemas mais ameaados do
mundo
36
. A Amrica do Sul possui as maiores reas de terras alagadas
do mundo
37
, e no Brasil, esta rea equivale cerca de 2% de todo o seu
territrio38. Pouca ateno tem sido dada s matas alagadas, ou matas
de brejo, apesar de sua comprovada importncia na manuteno dos
recursos hdricos
36
. Essas matas, tambm chamadas de Florestas Lati-
foliadas Higrlas com inundao quase permanente ou apenas Matas
Higrlas
39
, encontram-se estabelecidas sobre solos hidromrcos e
esto sujeitas presena de gua supercial em carter temporrio ou
permanente, ocorrendo em vrzeas ou plancies de inundao, nascen-
tes, margens de rios ou lagos ou ainda, em baixadas e depresses onde
a saturao hdrica do solo conseqncia do aoramento da gua do
lenol fretico
40
. So, portanto, fragmentos orestais naturais que tm
sua extenso totalmente dependente do regime hdrico local. Estes
fragmentos so considerados de preservao permanente pelo Cdigo
Florestal de 1965
41
. Entretanto, a realidade dos fatos mostra que a maio-
ria desse ecossistema j foi destruda ou encontra-se altamente frag-
mentada, restando cerca de 2% de sua rea original
42
. Scarano e outros
autores
43,44
fazem meno da importncia de pesquisas direcionadas a
esse ecossistema e recomendam ateno na sua conservao.
Fragmentos naturais de matas alagadas no Estado do Rio de Janeiro
(Figuras 5 e 6) destacam-se por serem importantes remanescentes de Mata
51
Atlntica de baixada e por abrigar espcies ameaadas de extino, tais
como o mico-leo-dourado (Leontophitecus rosalia), a preguia-de-coleira
(Bradypus torquatus), a borboleta-da-praia (Parides ascanius), entre
outras. Entre as espcies que compem sua ora, muitas se encontram
com populaes reduzidas devido ao extrativismo secular na rea. o
caso do guanandi (Symphonia globulifera e Calophyllum brasiliense), do
jequitib (Cariniana legalis) e da caixeta (Tabebuia cassinoides)
45
. Estes
fragmentos possuem dossel com cerca de 20m de altura e com maior
incidncia de cips e trepadeiras na borda que no interior
46
.
A composio e dinmica desses fragmentos so, provavelmente,
Mata alagada em Poo das Antas interior.
F
a
b
r
c
i
o
A
l
v
i
m
C
a
r
v
a
l
h
o
Fig.5
Mata alagada em Poo das Antas vista geral do fragmento.
Fig.6
F
a
b
r
c
i
o
A
l
v
i
m
C
a
r
v
a
l
h
o
52
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
Fig.7
determinadas pela histria de sua formao a partir da oresta contnua
original e por processos de curto prazo de reajustamento das condies
do fragmento
47
. Assim, fragmentos naturais isolados so fundamentais
para o entendimento da ocorrncia de condies de tamponamento que
podem ser desenvolvidas aps longo perodo de fragmentao.
5. Floresta Estacional Decidual
A Floresta Estacional Decidual, tambm denominada Mata Seca
Decdua
48
, est associada a duas estaes climticas bem demarcadas:
uma chuvosa e outra seca. Essas orestas possuem estrutura e com-
posio bastante variadas, so fortemente inuenciadas pelo ritmo esta-
cional, resultando num alto grau de perda de folhas (ou deciduidade)
durante a estao seca. Cerca de 90% das rvores do estrato dominante
perde as folhas no perodo seco (Figura 7).
Esse tipo de formao apresenta distribuio fragmentria e disjunta
53
na Amrica do Sul em um arco nordeste-sudoeste, formando corredores
que conectam a Caatinga s fronteiras do Chaco
49
(Figura 8). Esse padro
indica que esses fragmentos so vestgios de uma formao muito maior
e contnua, que deve ter atingido o seu mximo em extenso durante
o perodo de contrao das orestas midas, cerca de 18.000 a 12.000
anos atrs
50
.
Podem ser encontrados trs subtipos dessa formao que guardam
Interior de oresta estacional decidual no perodo da seca, no vale do rio Paran, Gois.
A
l
d
i
c
i
r
S
c
a
r
i
o
t
Fig.8
particularidades orsticas e estruturais entre si: as que ocorrem nas
reas de relevo plano, sobre solos mais profundos (em geral podzlicos,
latossolo vermelho-escuro, terra roxa estruturada e terra roxa estrutu-
rada similar eutrca); aquelas que ocorrem nas reas de encosta sobre
solos mais rasos, em geral litlicos, e aquelas que ocorrem em relevo
mais acidentado sobre os aoramentos calcrios, onde o endemismo de
espcies elevado.
Na poca chuvosa a cobertura arbrea pode variar de 70 a 95% nas
reas de oresta sobre relevo plano, at 50 a 70% nas reas calcrias,
que so mais abertas. Nem sempre possvel observar um dossel fecha-
do, mesmo nas reas de relevo plano. A altura do dossel varia de 9m nas
reas mais acidentadas at 20m naquelas mais planas, com indivduos
emergentes que podem atingir at cerca de 30m de altura. Em geral,
essas orestas apresentam baixa diversidade de eptas.
Em termos orsticos e sionmicos, as Florestas Deciduais esto
mais associadas s Caatingas arbreas, com espcies tidas como tpicas
dessa formao, tais como aroeira (Myracrodruon urundeuva), brana
(Schinopsis brasiliensis), barriguda (Cavanillesia arborea) e ip-roxo
(Tabebuia impetiginosa). Contudo, apresenta alguma semelhana com
outros tipos de vegetao adjacente dada a interpenetrao de espcies
de outras formaes. Dentre essas se destacam, por exemplo, pau-
jacar (Callisthene fasciculata), mamoninha (Dilodendron bipinnatum),
tingui (Magonia pubescens) e ip-branco (Tabebuia aurea), presentes
nos Cerrados, enquanto a copaba (Copaifera langsdorfi) e o jacarand
54
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
(Machaerium acutifolium) que, alm do Cerrado, so encontradas
tambm em Matas de Galeria. Na regio do Vale do rio Paran, em
Gois e Tocantins, cerca de 55% das espcies de rvores so comuns s
formaes de Florestas Deciduais e dos Cerrados adjacentes.
A importncia dessas orestas no est na riqueza de espcies que,
para padres tropicais, no alta, mas sim na singularidade do conjunto
de espcies que as compem, o nvel de destruio que sofreram, e
ainda sofrem, e a importncia econmica das espcies, principalmente
de rvores como a aroeira que, exploradas em larga escala, hoje esto
restritas aos fragmentos.
As Matas Calcrias (Figura 9) distinguem-se na paisagem pelo seu
aspecto singular, ocorrendo sobre aoramentos de rochas de calcrio.
So acidentadas, com topograa peculiar e apresentam estrutura
diferenciada da vegetao. Ocorrem espalhadas e naturalmente isoladas,
variando em tamanho de menos de um at centenas de hectares. O
solo ocorre entre as fraturas e fendas das rochas, onde se estabelece
a vegetao. As copas das rvores no se tocam, formando um dossel
muito mais aberto que o das orestas estacionais de reas planas. A
vegetao possui grande anidade com a Caatinga, embora seja pouco
conhecida. rvores de imbiru (Pseudobombax tomentosum e P.
longiorum), aoita-cavalo (Luehea divaricata), barriguda-de-espinho
(Chorisia pubiora), priquiteira (Acacia glomerosa), jacarand-mimoso
(Jacaranda brasiliana), amburana-cambo (Commiphora leptopholeos),
gonalo-alves (Astronium fraxinifolium), pau-ferro (Machaerium
scleroxylon), peroba-rosa (Aspidosperma pyrifolium), aroeira, barriguda,
ip-roxo e mamoninha so as mais comuns em Matas Calcrias no vale
do rio Paran
51,52,53
.
As Matas Calcrias so abundantes nos enclaves de Florestas
Deciduais, especialmente no vale do rio Paran. Nessa regio, assim
como em outras, o isolamento natural das Matas Calcrias est sendo
aumentado pela destruio da vegetao das reas planas. As espcies de
importncia econmica que ocorrem nas Matas Calcrias, somente no
so removidas pelas diculdades que a topograa impe ao transporte
da madeira, porm, mesmo assim nas reas menos acidentadas, alguma
Vista geral de grande rea de aoramento de rochas calcrias, coberto por vegetao nativa,
no vale do Rio Paran, Gois.
A
l
d
i
c
i
r
S
c
a
r
i
o
t
Fig.9
55
explorao madeireira ocorre. A extrao das rochas para calcrio
agrcola e pavimentao de rodovias resulta na completa destruio
dessas matas. As Matas Calcrias, por compartilharem parte das espcies
com as Florestas Deciduais, tm importncia crucial na conservao da
biodiversidade, pois so reservatrios de espcies e genes.
6. Capes de Mata de Araucria nos Campos Sulinos
Os Capes so ilhas de Floresta com Araucria, ou pinheiro-do-Para-
n (Araucaria angustifolia), isoladas naturalmente em meio aos campos
sulinos. A mata dos capes apresenta altura menor que a poro cont-
nua das orestas, com os pinheiros mais altos atingindo no mximo 15
a 18m, com um segundo estrato logo abaixo atingindo at 8m. Tal fato
est relacionado presena de solos rasos e com baixa disponibilidade
de gua. Os fragmentos que apresentam forma circular so denomina-
dos popularmente de capes (Figura 10). Tambm so comuns fragmen-
tos acompanhando os vales dos rios (Figura 11).
Vrios autores salientam que a principal causa do isolamento dessas
orestas so as mudanas climticas. Klein
54
e Bigarella
55
sugeriram a
existncia de dois perodos mais secos, um mais drstico no Pleistoceno
e um menos intenso no Holoceno, que explicariam o predomnio das
formaes campestres em relao s orestas.
Estudos de palinologia revelaram que a partir de 45.000 a 33.000
anos atrs, houve um aumento na umidade e uma expanso da Floresta
com Araucria no Brasil. Entre 17.000 e 13.000 anos ocorreu um clima
frio e relativamente seco que causou um recuo dessas orestas. No nal
do Pleistoceno (13.000 a 11.000 anos atrs), houve um novo aumento
de umidade e uma nova expanso das orestas com Araucria. Entre
11.000 e 8.500 anos, houve um abrupto e curto perodo com o retorno do
clima frio e seco, ocasionando uma nova retrao das orestas. Depois
Capo de Floresta com Araucria nos Campos de Guarapuava, Paran. Fig.10
R
i
c
a
r
d
o
B
r
i
t
e
z
56
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
de 4.000 anos o clima retorna a ser mido, reassumindo as condies
atuais
56,57
.
Os campos sulinos no Estado do Paran localizam-se em altitudes
mais elevadas, entre 1.100 a 1.350m, acima das Florestas com Araucria
adjacentes. Nesses locais ocorrem as temperaturas mais frias do Estado,
sendo freqente a ocorrncia de geadas no inverno.
Os campos ocorrem em regies planas ou plano-deprimidas mal
drenadas, em solos de arenito pobre, em solos derivados de derrames
baslticos cidos e em solos rasos e pedregosos, salientando que a
sionomia campestre difcil de explicar com base nos parmetros
atuais do ambiente, onde ocorre um clima tipicamente orestal
58
. Ou
seja, existe uma tendncia de expanso das Florestas de Araucria por
sobre os campos
54
, mas que atualmente pouco perceptvel devido
intensa atividade agropecuria que ocorre nos mesmos.
No mapeamento realizado pelo subprojeto Araucria a rea
dessa oresta foi estimada em 8.295.750ha, e os campos sulinos em
3.293.389ha, representando respectivamente, 41,5% e 16,5% do total da
rea do Estado do Paran.
Tabela 1. Proporo de diferentes formaes orestais na rea de ocorrncia dos campos sulinos, no Estado
do Paran.
Formaes orestais rea em ha % da rea total dos campos sulinos
Estgio sucessional inicial 140.392 4,26
Estgio sucessional mdio 84.057 2,55
Estgio sucessional avanado 7.888 0,24
Predomnio de pinheiros 2.411 0,07
Reorestamento 49.217 1,49
Fragmentos de Floresta com Araucria na regio dos campos sulinos, Paran. Fig.11
R
i
c
a
r
d
o
B
r
i
t
e
z
57
Nos capes as espcies arbreas associadas ao pinheiro-do-Paran
apresentam porte baixo, atingindo at 8m de altura e entre 10 a 30cm
de dimetro. Em sua composio orstica destaca-se o grande nmero
de espcies da famlia Myrtaceae como maria-preta (Blepharocalix
salicifolius), Myrciaria tenella, Calyptranthes concinna, Campomanesia
xanthocarpa e Myrceugenia euosma. Alm dessas, ocorrem tambm
erva-mate (Ilex paraguariensis), canela (Ocotea diospyrifoli e O. porosa),
Casearia decandra, C. lasiophylla, C. obliqua, C. sylvestris, Jacaranda
puberula, Lithraea brasiliensis, Nectandra grandiora, N. lanceolata,
N. megapotamica, Allophylus edulis, Cedrela ssilis, Cordyline
dracaenoides, Cupania vernalis, Rollinia rugulosa, e Tabebuia alba.
Na regio dos Campos Gerais, foram identicadas nos capes as
seguintes espcies
59
: Ilex dumosa, Gochnatia polimorpha, Dicksonia
sellowiana, Ocotea puberula, O. porosa, Nectandra lanceolata, Miconia
sinerascens, Gomidesia sellowiana, Myrceugenia euosma, Myrcia
multiora, Cupania vernalis e Matayba elaeagnoides. Na regio dos
Campos de Curitiba, foram identicadas 95 espcies de rvores com
dimetro altura do peito maior ou igual a 20cm
60
. O pinheiro-bravo
(Podocarpus lambertii) e a araucria foram apontadas como as espcies
de maior importncia na caracterizao dessa formao em funo,
respectivamente, do grande nmero de indivduos e do porte. Geralmente
essas espcies ocupam o estrato superior, com altura de 11 a 20m, ou
so emergentes no caso da araucria. No segundo estrato, com altura
aproximada de 6 a 10m, as espcies mais comuns so Capsicodendron
dinisii, Campomanesia xanthocarpa, Rapanea ferruginea, Pimenta
pseudocaryophyllus, Myrcia rostrata gracilis, Lithraea brasiliensis e
Myrcia obtecta. Diferenas orsticas foram detectadas entre os capes
de acordo com as condies edcas e nveis sucessionais, sendo
salientado pelos autores que a comunidade com maior diversidade na
regio estudada, onde ocorre Ocotea porosa e outras canelas. J as
formaes mais recentes so tipicamente dominadas pelo pinheiro-
bravo, alm de Zanthoxylum rhoifolia e Eugenia hiemalis, entre outras.
7. Efeitos da sedimentao e hidrodinmica sobre habitats de
aves limcolas migratrias no Norte do Brasil
A sedimentao em reas costeiras muitas vezes funciona como
uma fragmentao natural para os organismos que as habitam,
podendo ser uma causa favorvel, mas muitas vezes desfavorvel para o
estabelecimento das espcies. A variao no tipo de sedimento pode ser
atribuda s condies energticas locais. O mecanismo e o sentido de
transporte de areia na regio da praia so fortemente controlados pelo
movimento das guas que, por sua vez, conseqncia das correntes
produzidas pelas mars e pela ao das ondas. Os ventos podem ser
considerados um fator importante, pois pode causar deformidades nos
nveis altos e baixos da gua, na fora das correntes ao longo da costa
e tambm inuenciar marcadamente no declive da praia
61
. A praia sofre
modicaes contnuas em funo das condies oceanogrcas, de
58
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
modo que est sempre em equilbrio com a situao hidrodinmica
local.
A natureza do sedimento um dos fatores mais importantes para
a distribuio e abundncia das espcies bentnicas. Vrios autores j
evidenciaram o papel fundamental da sedimentao na distribuio da
endofauna. Essa constante movimentao das partculas de fundo pode
tornar esse sedimento mal selecionado, ou seja, misturando areias na,
mdia e grossa, ocasionando baixos valores na diversidade e muitas
vezes na abundncia faunstica, indicando que apenas algumas espcies
se adaptam a esse tipo de fundo, geralmente instvel. Exemplo tpico
desse processo de sedimentao foi observado na praia de Panaquatira
em So Lus (MA) onde, provavelmente em decorrncia dessa mistura de
sedimentos, houve uma menor abundncia de organismos bentnicos
dentre todas as reas estudadas. Alm desse fator, os ambientes
estuarinos ainda podem ter sua sedimentao afetada pelo transporte
de sedimentos dos rios para as praias, causando um maior acmulo
de areia sobre o sedimento da praia, que pode sufocar as espcies ali
existentes e expuls-las ou mesmo extingu-las localmente.
Na praia de Goiabal, municpio de Caloene (AP), foram observados
padres inesperados entre dois anos de coleta, com 919 indivduos
em 1998 e 14 em 2000. Essa grande diferena est sendo atribuda s
mudanas no tipo de sedimento, que podem ter sido ocasionadas por
uma grande deposio de sedimentos provenientes dos rios. Esse setor
da costa sofre forte inuncia do rio Amazonas, para onde so carreadas
grandes quantidades de sedimentos
62
. Em termos comparativos, as
outras praias estudadas apresentaram maior nmero de indivduos,
fato que possivelmente est relacionado a uma maior estabilidade
dos sedimentos nessas reas, que so mais abrigadas e sofrem menor
inuncia das ondas.
Os dados observados em reas costeiras indicam que as comuni-
dades de aves (maaricos migratrios e residentes) tendem a seguir um
padro de distribuio em reas de alimentao de acordo com o tipo
de substrato envolvido. Devido sua alta taxa metablica, essas aves
necessitam de um suprimento calrico quase constante, e os ambientes
fornecedores de recursos alimentares (organismos bentnicos) esto
localizados em alguns setores ao longo da costa entre o Maranho e o
Amap. Portanto, considerando que a distribuio da fauna bentnica
est associada distribuio do tipo de sedimento, pode-se concluir que
a distribuio espacial da avifauna costeira segue a distribuio do tipo
de sedimento e, em conseqncia, dos recursos alimentares associa-
dos.
Existem poucos lugares onde a abundncia de organismos
bentnicos suciente para suprir a demanda energtica das aves
migratrias, e esses fragmentos de reas propcias so formados em
decorrncia da dinmica de mars, correntes e carreamento de nutrien-
tes e sedimentos pelos rios. Entretanto, caso uma dessas reas seja afe-
tada por usos que alterem essa dinmica natural (construo de portos,
residncias, fazenda camaroneira etc.), elas passaro a ser fragmentos
articiais criados por atividades antrpicas.
Em resumo, a sedimentao das praias pode ser um fator natural
de fragmentao para os organismos de zonas costeiras no litoral norte
do Brasil.
59
8. Fragmentao natural de ambientes de gua doce
Entre as causas naturais da fragmentao de ecossistemas aquti-
cos lticos (rios), esto includas as mudanas dos cursos de rios e
tributrios por processos erosivos e deposio de sedimentos com for-
mao de lagoas marginais, levantamentos de crosta, falhas tectnicas
e deposio de sedimentos, quedas de barreiras, atividade elica e as
pequenas represas formadas com troncos de rvores pelos castores.
Lagoas marginais (oxbow lakes) margeiam numerosos rios de plan-
cie nas bacias hidrogrcas brasileiras, tendo um papel signicativo para
a biodiversidade de gua doce, pois so locais de reproduo e alimen-
tao de diversas espcies. Estas lagoas podem apresentar alta conectiv-
idade com o sistema original (o rio) em funo do relevo, distncia e da
magnitude do pulso de inundao. So exemplos destes ecossistemas
as lagoas marginais da bacia do rio Amazonas e do rio Paran e as baas
do Pantanal Mato-grossense. A Figura 12 ilustra as lagoas marginais em
forma de ferradura na plancie de inundao do rio Mogi-Guau (SP).
O maior distrito de lagos naturais do sudeste brasileiro, o sistema
de lagos do Vale do rio Doce (MG), originou-se naturalmente por proces-
sos de levantamentos de crosta e barramentos de tributrios por proces-
sos sucessivos de eroso e deposio dos sedimentos. Este tipo de frag-
mentao natural geralmente origina lagos com baixa conectividade.
Em virtude do relevo acidentado, oriundo dos processos tectnicos,
ocorre isolamento geogrco, surgimento de novas espcies e alguns
endemismos.
Exemplo de formao de lagos marginais pelas mudanas de curso do rio Mogi-Guau na bacia
do Alto rio Paran
Fig.12
Escala
60
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
9. Recomendaes
a. Fragmentos naturais devem ser claramente diferenciados
de fragmentos antrpicos na denio e implementao de polticas
pblicas de conservao;
b. Alguns fragmentos naturais constituem reas prioritrias
para conservao porque contm espcies endmicas e populaes
diferenciadas;
c. Fragmentos naturais devem ser preservados como fragmentos
e no devem ser conectados, pois a interligao poderia destruir a
estrutura populacional e causar extines locais;
d. Na preservao de fragmentos naturais importante considerar
o uso e conservao do solo no entorno (matriz);
e. A estrutura e a dinmica da biota de fragmentos naturais
necessitam de estudos mais detalhados visando identicao de reas
prioritrias para conservao.
Referncias bibliogrcas
1. CERQUEIRA, R., 1982, South American Landscapes and their Mammals,
pp. 53-76. In: M. A. Mares & H. H. Genoways. (eds.) Mammalian Biology
in South America. Special Publications Series, Pymatuning Laboratory of
Ecology, University of Pittsburgh.
2. CERQUEIRA, R., 1985, The distribution of Didelphis (Poliprotodontia,
Didelphidae) in South America. Journal of Biogeography, 12: 135-145.
3. CERQUEIRA, R., 1995, Determinao de Distribuies Potenciais de
Espcies, pp: 141-161. In: P. Peres-Neto, J.L. Valentin, & F.A.S. Fernandes
(eds.) Oecologia Brasiliensis, Vol. II: Tpicos em Tratamento de Dados
Biolgicos. Programa de Ps-Graduao em Ecologia, Instituto de Biolo-
gia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
4. CERQUEIRA, R., 2000, Biogeograa das Restingas. In: Esteves, F. A. &
Lacerda, L.D. (eds.).Ecologia de Restingas e Lagoas Costeiras. NUPEM/
UFRJ, Maca, pp: 65-75.
5. CERQUEIRA, R., MARROIG, G. & PINDER, L., 1998, Marmosets and
Lion-tamarins distribution (Callitrichidae, Primates) in Rio de Janeiro,
South-eastern Brazil. Mammalia, 62: 213-226.
6. LARA, M. C. & PATTON, J. L, 2001, Evolutionary diversication of
spiny rats (genus Trinomys, Rodentia: Echimyidae) in the Atlantic Forest
of Brazil. Zoological Journal of the Linnean Society, 130: 661-686.
7. MARROIG, G. & CERQUEIRA, R., 1997, Plio-Pleistocene South
America history and the Amazon Lagoon hypothesis: a piece in the
puzzle of Amazonian diversication. Journal of Comparative Biology,
2: 103-119.
8. VANZOLINI, P.E., 1970, Zoologia Sistemtica, Geograa e a origem
das espcies. IG/USP, So Paulo.
9. GRELLE, C. E.V., FONSECA, G. A. B., FONSECA, M. T. & COSTA, L. P.,
1999, The question of scale in threat analysis: a case study with Brazilian
mammals. Animal Conservation, 2: 149-152.
61
10. COLTRINARI, L., 1993, Global Quaternary changes in South America.
Global and Planetary Change, 7: 11-23.
11. RAPOPORT, E. H, 1982, Areography: Geographical Strategies of
Species, Pergamon Press, Oxford, 269 p.
12. BEHLING, H., 1998, Late Quaternary vegetational and climatic
changes in Brazil. Review of Paleobotany and Palynology, 99: 143-156.
13. BEHLING, H. & LICHTE, M., 1997, Evidence of dry and cold cliamtic
conditions at glacial times in tropical southeastern Brazil. Quaternary
Research, 48: 348-358.
14. SAFFORD, H. D., 1999, Brazilian Pramos. I. An introduction to the
physical environment and vegetation of the campos de altitude. Journal
of Biogeography, 26: 693-712.
15. GRELLE, C. E. V., 2000,. Areograa dos Primatas da Mata Atlntica.
Tese de Doutoramento, Museu Nacional, UFRJ, 150 p.
16. VAN DER HAMMEN, T., 1974, The Pleistocene changes of vegetation
and climate in tropical South America. Journal of Biogeography, 1: 3-26.
17. WEBB, R. S., RIND, D H., LEHMAN, S. J. HEALY, R. J. & SIGMAN, D.,
1997, Inuence of ocean heat transport on the climate of the last Glacial
Maximum. Nature, 385: 695-699.
18. CLAPPERTON, C. M., HALL, M., MOTHES, P., HOLE, M. J., STILL, J.
W., HELMENS, K. F., KURY, P. & GEMMEL, A. M., 1997, A Younger Dryas
Icecap in the Equatorial Andes. Quaternary Research, 47: 13-28.
19.EBERT, H., 1960, Novas observaes sobre a Glaciao Pleistocnica
na Serra de Itatiaia. Anais da Academia Brasileira de Cincias, 32: 51-73.
20. GEISE, L., 1995, Os roedores Sigmodontinae (Rodentia, Muridae)
do Estado do Rio de Janeiro. Sistemtica, Distribuio e Variao
Geogrca. Tese de Doutoramento, Departamento de Gentica, IB,
UFRJ, 389 p.
21. BONVICINO, C. R., LANGGUTH, A. B., HERSKOVITZ, P. & PAULA, A.
C., 1997, An elevational gradient study of small mammals at Capara
National Park, South eastern Brazil. Mammalia, 61: 547-560.
22. FUNDAO SOS MATA ATLNTICA, INPE & INSTITUTO SCIO
AMBIENTAL, 1998, Atlas da Evoluo dos Remanescentes Florestais
e Ecossistemas Associados no Domnio da Mata Atlntica no perodo
1990-1995. SOS Mata Atlntica, So Paulo, 54 p.
23. MYERS, N. & KNOLL, A. H., 2001, The biotic crisis and the future
of evolution. Proceedings of National Academy of Sciences, USA, 98:
5389-5392.
24. PIRES, J. M., 1973, Tipos de vegetao da Amaznia. Publicaes
Avulsas do Museu Paraense Emlio Goeldi, 20: 179-202.
25. DUCKE, A., & G. BLACK, 1953, Phytogeographical notes on the
Brazilian Amazon. Anais da Academia Brasileira de Cincias, 25: 1-46.
26. PIRES, J. M., AND G. T. PRANCE, 1985, The vegetation types of the
Brazilian Amazon, pp. 109-145. In: G.T. Prance & T.E. Lovejoy (eds.), Key
Environments: Amazonia, Pergamon Press, Oxford.
27. EITEN, G., 1978, Delimitation of the Cerrado concept. Vegetatio, 36: 169-178.
28. HAFFER, J., 1987, Quaternary history of tropical America, pp. 1-18.
In: .Whitmore, T.C. & Prance, G.T. (eds.) Biogeography and Quaternary
History in Tropical America.: Clarendon Press. Oxford.
29. COLE, C. J., & H. C. DESSAUER, 1993, Unisexual and bisexual whiptail
lizards of the Cnemidophorus lemniscatus complex (Squamata: Teiidae)
of the Guiana region, South America, with descriptions of new species.
American Museum Novitates, 3081: 1-30.
62
C
a
u
s
a
s
n
a
t
u
r
a
i
s
30. COLE, C. J., H. C. DESSAUER, & A. L. MARKEZICH, 1993, Missing
link found: the second ancestor of Gymnophthalmus underwoodi
(Squamata: Teiidae), a South American unisexual lizard of hybrid origin.
American Museum Novitates, 3055: 1-13.
31. ALMEIDA JR., J. M. G. (ed.), 1986, Carajs: Desao Poltico, Ecologia
e Desenvolvimento. Editora Brasiliense S.A. e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientco e Tecnolgico, So Paulo.
32. SILVA, M. F. F., 1988, Aspectos Ecolgicos da Vegetao que Cresce
sobre Canga Hemattica em Carajs-PA Tese de Doutorado, Instituto
Nacional de Pesquisas da Amaznia, Fundao Universidade do
Amazonas, Manaus.
33. MAYO, S.J. & FEVEREIRO, V.P.B., 1982, Mata de Pau Ferro - a pilot
study of the Brejo forest of Paraba, Brazil. Royal Botanic Gardens, Kew.
34. VANZOLINI, P. E , 1981, A quasi-historical approach to the natural
history of the differentiation of reptiles in tropical geographic isolates.
Papis Avulsos de Zoologia, 34:189-204.
35. ANDRADE-LIMA, D., 1982, Present-day forest refuges in Northeastern
Brazil, pp. 245-251. In: G. T., Prance (ed.). Biological diversication in the
tropics. New York, Columbia University Press.
36. MALTBY, E. 1990. Wetlands - Their status and role in the biosphere.
Plant Life Under Oxygen deprivation. SPB Academic Publishers, The
Hague, p. 3-21.
37. ASELMANN, I. & CRUTZEN, P. J., 1989, Global distribution of natural
freshwater wetlands and rice paddies, their net primary projuctivity,
seasonality and possible methane emission. Journal of Atmospheric
Chemistry, 8:307-358.
38. WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE, 1992, Global
biodiversity - status of the earth living resources. Chapman & Hall,
London, p. 594.
39. TONIATO, M. T. Z., LEITO-FILHO, H. F. & RODRIGUES, R. R., 1998,
Fitossociologia de um remanescente de oresta higrla (mata de brejo)
em Campinas, SP. Revista Brasileira de Botnica, 21(2): 197-210.
40. IVANAUSKAS, N. M., RODRIGUES, R. R. & NAVE, A. G., 1997,
Aspectos ecolgicos de um trecho de oresta de brejo em Itatinga, SP:
orstica, tossociologia e seletividade de espcies. Revista Brasileira de
Botnica, 20(2):139-153.
41. MILAR, E., 1991, Legislao ambiental no Brasil. Edies APMP.
Srie: Cadernos informativos.
42. CMARA, I. G., 1991, Plano de ao para a Mata Atlntica. p. 17-43.
43. SCARANO, F. R., RIBEIRO, K. T., MORAES, L. F. D. & LIMA, H. C., 1997,
Plant establishment on ooded and unooded patches of a freshwater swamp
forest in southeastern Brazil. Journal of Tropical Ecology, 14: 793-803.
44. SCARANO, F. R., RIOS, R. I. & ESTEVES, F. A., 1998, Tree species
richness, diversity and ooding regime: case studies of recuperation
after anthropic impact in brazilian ood-prone forests. International
Journal of Ecology and Environmental Sciences, 24: 223-235.
45. IBDF, 1981, Plano de Manejo da Reserva Biolgica de Poo das Antas.
Documento tcnico no 10, Ministrio da Agricultura, Braslia.
46. CARVALHO, F. A., BRAGA, J. M. A., RODRIGUES, P. P. & NASCIMEN-
TO, M. T., 2000, Distribuio e densidade de lianas em reas de borda e
interior em dois fragmentos de Mata Atlntica de baixada periodicamente
alagada na Rebio Poo das Antas, RJ. Anais do 6 Simpsio e Congresso
Internacional sobre Florestas - FOREST, Porto Seguro-BA, 101-102.
63
47. KELLMAN, M., TACKABERRY, R. & RIGG, L., 1998, Structure and
function in two tropical gallery forest communities: implications for
forest conservation in fragmented systems. Journal of Applied Ecology,
35:195-206.
48. RIBEIRO, J. F. & WALTER, B. M. T., 1998, Fitosionomias do Bioma
Cerrado, p.89-152. In: S.M. Sano & S.P. Almeida (eds.). Cerrado: ambiente
e ora. EMBRAPA-CPAC, Planaltina-GO.
49. OLIVEIRA-FILHO, A. T. & RATTER, J. A., 1995, A study of the origin
of central brasilian forest by the analysis of plant species distribution
patterns. Edinburgh Journal of Botany, 52: 141-194.
50. PRADO, D. E. & GIBBS, P. E., 1993, Patterns of species distributions
in the dry seasonal forests of South America. Annals of the Missouri
Botanical Garden, 80, 902-927.
51. SILVA, L. A., & SCARIOT, A., 2002a, Comunidade arbrea de uma
oresta estacional decidual sobre aoramento calcrio na Bacia do Rio
Paran. Revista rvore (no prelo).
52. SILVA, L. A., & SCARIOT, A., 2002b, Estrutura da comunidade arbrea
em uma oresta estacional decidual em aoramento calcrio (Fazenda
So Jos, So Domingos - Go, Bacia do Rio Paran). Acta Botanica
Brasilica (no prelo).
53. SILVA, L. A., & SCARIOT, A., 2002c, Levantamento da estrutura
arbrea em uma oresta estacional decidual sobre aoramento calcrio.
Revista rvore (no prelo).
54. KLEIN, R.M., 1984, Aspectos dinmicos da vegetao do sul do Brasil.
Sellowia, Itaja, 36 p.5-54.
55. BIGARELA, J.J.; ANDRADE-LIMA, D. & RIEHS, P.J., 1975,
Consideraes a respeito das mudanas paleoambientais na distribuio
de algumas espcies vegetais e animais do Brasil. Anais da Academia
Brasileira de Cincias, 47:411-64.
56. LEDRU, M.P.; BRAGA, P. I. S.; SOUBIES, F.; FOURNIER, M.; MARTIN,
L.; SUGUIO, K.; TUERCQ, 1996, The last 50,000 years in the Neotropics
(Southern Brazil): evolution of vegetation and climate. Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 123:239-257.
57. LEDRU M.P., 1993, Late quaternary environmental and climatic
changes in central Brazil. Quaternary Research, 39, 90-98.
58. LEITE, P. F., 1994, As diferentes unidades toecolgicas da regio
sul do Brasil - proposta de classicao. Dissertao (Mestrado em
Engenharia Florestal) Setor de Cincias Agrrias, Universidade Federal
do Paran, Curitiba.
59. MORO, R. S.; ROCHA, C. H.; TAKEDA, I. J. M.; KACZMARECH, R.,
1996, Anlise da vegetao nativa da bacia do Rio So Jorge. Publicao
UEPG Cincias Biolgicas e da Sade, n.2, v.1, p. 33-56.
60. ZILLER, S. R.1993, As Formaes Vegetais da rea de Inuncia do
Futuro Reservatrio do Rio Ira Piraquara / Quatro Barras - PR. Curitiba,
Relatrio Tcnico, 93 p.
61. GIANUCA, N. M., 1983, A preliminary account of the ecology of sandy
beaches in Southern Brazil. In: Mclachlan, A. & Erasmus, T. (eds.) Sandy
beaches as ecossystems. Dr. W. Junk Publishers, Boston, pp. 413-419.
62. GIBBS. R. J., 1970, The suspended material of the Amazon shelf and
tropical Atlantic Ocean. Marine Science, 4: 203-210.
65
3
CAUSAS ANTRPICAS
Judith Tiomny Fiszon e
Nilson de Paula Xavier Marchioro
Ricardo Miranda de Britez
Diogo de Carvalho Cabral
Nazira C. Camely
Vanessa Canavesi
Paulo Roberto Castella
Ernesto B. Viveiros de Castro
Laury Cullen Junior
Mauricio Borges Sampaio Cunha
Evandro Orfan Figueiredo
Idsio Luis Franke
Herbert Gomes
Laura Jane Gomes
Vera Helena Vieira Hreisemnou
Elena Charlotte Landau
Sandra Maria Faleiros Lima
Ana Tereza Lyra Lopes
Eduardo Mariano Neto
Ana Lucia de Mello
Lus Cludio de Oliveira
Katia Yukari Ono
Nadia Waleska Valentim Pereira
Anbal dos Santos Rodrigues
Antnio Augusto Ferreira Rodrigues
Carlos Ramon Ruiz
Luiz Fernando G. Leandro dos Santos
Welber Senteio Smith
Cimone Rozendo de Souza
66
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
Introduo
Os efeitos dos processos de perda e de fragmentao de habitats
no podem ser totalmente compreendidos e controlados pelas aborda-
gens biolgicas. O efeito do padro histrico e a congurao atual da
ocupao, bem como suas caractersticas socioeconmicas resultaram
em presses e, simultaneamente, em medidas conservacionistas, inten-
cionais ou no, que contriburam para a atual congurao da paisa-
gem.
A identicao dos fatores antrpicos que interferem no processo
de fragmentao ambiental no tarefa fcil. Quando o objetivo de
prever e avaliar as suas conseqncias, defronta-se com parcas bases
empricas em escalas compatveis com os fenmenos que so observa-
dos e com a pouca prtica do monitoramento permanente. Esta situao
gera suposies frgeis, com baixa conabilidade terica e emprica,
no se constituindo em um apoio seguro s decises de formulao e
implementao de polticas pblicas.
Essa preocupao evidente para Dias (2001)
1
, ao sugerir que o
monitoramento da biodiversidade deve incluir os principais fatores
impactantes oriundos da interveno humana, tais como a perda e
fragmentao dos habitats, a introduo de espcies e doenas exti-
cas, uso de hbridos e monoculturas na agroindstria e na pecuria,
crescimento acelerado das populaes humanas, a distribuio desigual
da propriedade, polticas econmicas e sistemas jurdicos inadequados
e insucincia de conhecimentos para a conservao ambiental. No
obstante, resta o desao de denir como incluir esses fatores em uma
anlise cienticamente embasada, evitando cair em mitos e em simpli-
caes das relaes causa-efeito de pequena sustentao emprica.
H um amplo rol de fatores impactantes no processo de fragmen-
tao. O presente captulo ateve-se, exclusivamente, aos fatores identi-
cados e estudados pelos subprojetos do Programa de Conservao e
Utilizao Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira Probio, nas
regies Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. No obstante, no se
sabe quais impactos que a maior parte desses fatores geram e, quando
so conhecidos, no h propostas denidoras de nveis desejveis/acei-
tveis para aceit-los ou rejeit-los, exceto nos casos limite em que se
extingue uma espcie.
Foram abordados diversos aspectos dos efeitos de atividades
antrpicas. Algumas abordagens tiveram carter genrico tal como a
preocupao com a introduo, deliberada ou no, de espcies exticas
silvestres e domsticas, plantas para cultivo e ornamentao, agentes
biolgicos para controle de pragas, comensais e parasitas indesejveis
que vm alterando as biotas nativas. Outras abordagens se ativeram s
observaes relacionadas a um bioma estudado ou, mais especica-
mente, a uma rea geogrca que foi objeto do estudo emprico.
Deve-se reconhecer que ainda so necessrios diversos estudos que
permitam no apenas identicar, mas tambm, quanticar e qualicar
os impactos antrpicos. S assim ser possvel delinear limites aceit-
veis/desejveis das perturbaes decorrentes das atividades desen-
volvidas pela sociedade humana, viabilizando o apoio s decises de
implantao de polticas pblicas de manejo ambiental sustentvel.
67
Alguns dos principais fatores antrpicos identicados que desen-
cadearam a devastao das orestas nativas foram a caa, explorao
agropecuria, queimadas, extrao vegetal, lazer, urbanizao e a
implantao de infraestrutura de transportes, energia e saneamento. Em
quase todos eles foram identicados vnculos com atividades e polticas
econmicas ou ento, se constituem como estratgias de sobrevivncia
frente s adversidades destas. Esses levantamentos permitiram perce-
ber que os diferentes estgios de fragmentao so decorrentes dos
diferentes padres de desenvolvimento social e econmico nacionais,
regionais e locais.
1. As causas antrpicas da fragmentao: um breve histrico
Uma recuperao histrica do processo de fragmentao de origem
antrpica permite identicar alguns dos principais fatores que desem-
penharam papel importante na atual congurao dos remanescentes
orestais.
O primeiro marco do processo de fragmentao ocorreu por volta
de 500 anos atrs com a conquista desse continente pelos europeus.
A partir da, as atividades socioeconmicas tm orientado a ocupa-
o de reas de orestas. Este processo, porm, no se deu de forma
homognea, podendo-se identicar claras diferenas regionais quanto
intensidade e velocidade do desmatamento. Inicialmente, a principal
ao humana de degradao orestal consistiu na extrao de madeiras
como o pau-brasil, para o comrcio ou simplesmente a derrubada da
oresta para uso na estruturao das vilas e ocupao da ento colnia
(fonte energtica e de material para construo).
Depois disso, a localizao e a velocidade dos desmatamentos pas-
sou a se confundir com as demandas decorrentes dos ciclos econmi-
cos. A produo de cana-de-acar, a busca por ouro, o cultivo do caf
e as atividades pecurias impulsionaram a ocupao da rea original-
mente coberta pela Mata Atlntica, que hoje se estima no passar de 5%
da cobertura original
2
. Em 1993, estimava-se que, por ano, eram explo-
rados cinco milhes de hectares para a produo de madeira e celulose
e oito milhes de hectares por ano davam lugar aos cultivos agrcolas
3
.
A atrao populacional gerada pelo desenvolvimento das atividades
econmicas acentuou a devastao da Floresta Atlntica. O crescimento
demogrco e das cidades na regio Sudeste durante o sculo XIX foi
notvel, nessa regio em 1808 havia cerca de um milho de pessoas, oito
anos depois, essa populao era de 6,4 milhes. As cidades ocuparam
o lugar das orestas que foram consumidas para a gerao de energia e
implantao da infra-estrutura urbana. A populao brasileira que ocupa
as reas onde originalmente havia Mata Atlntica triplicou na segunda
metade do sculo XX, como pode ser evidenciado na Figura 1.
68
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
Neste processo de crescimento populacional a implementao e
manuteno da infraestrutura produtiva, especialmente a construo
de estradas, a gerao de energia, o fornecimento de gua e o estab-
elecimento de sistemas de comunicao, tm sido elementos fundamen-
tais no direcionamento da perda de orestas. As mudanas ocorridas
na ocupao do solo e, conseqentemente, na paisagem no extremo
sul da Bahia em razo da construo de estradas, ilustram o processo
de fragmentao regional (Figura 2). Em 1945 os maiores desmatamen-
tos se concentravam na desembocadura dos principais rios, devido s
caractersticas que favoreciam o povoamento do litoral. Em 1960 com
o avano da pecuria, o processo de fragmentao ainda se mantinha
restrito rea costeira e prximo do limite com Minas Gerais. Um levan-
tamento realizado em 1974 revela que cerca de 40% das orestas exis-
tentes em 1960 foram destrudas com a construo da rodovia BR 101 e
a instalao de plos madeireiros nas cidades situadas ao longo desta.
At 1990, a regio j tinha perdido 94% da cobertura orestal observada
em 1945
5
.
A conquista de terras para a agricultura outro fator que tem
ameaado um vasto patrimnio natural e, em certos casos, como nas
Florestas de Araucria no Paran, tem causado a extino de espcies da
ora e da fauna. Originalmente a Floresta Ombrla Mista, ou Floresta
com Araucria cobria 145 municpios, totalizando mais de 8 milhes de
hectares, ou 41,5% da superfcie do Estado
6
.
Crescimento populacional do Brasil e das regies Nordeste, Sudeste e Sul.
Fonte: IBGE Censo Demogrco 2002
4
.
Fig.1
69
Evoluo da fragmentao da Mata Atlntica nas ltimas dcadas no Extremo Sul do
Estado da Bahia.
Fonte: MENDONA, J. R.et al, 1994
5
Fig.2
70
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
Mais da metade dos municpios tm menos de 20% da sua rea
coberta por remanescentes orestais nativos. Isso indica que a maioria
dos estabelecimentos agrcolas possui menos de 20% de cobertura o-
restal nativa, o que contraria o estabelecido pelo Cdigo Florestal.
Os processos socioeconmicos que geraram o atual nvel de
fragmentao na Mata Atlntica vm se repetindo na Amaznia, cuja
ocupao caracteriza-se por dois momentos distintos. O primeiro marcou
a fase da conquista, defesa e explorao, quando os colonizadores
portugueses utilizaram mo-de-obra indgena que buscava na mata
as drogas-do-serto. Os recursos econmicos obtidos foram utilizados
para o desenvolvimento e ocupao dos novos espaos, assegurando
regio as condies iniciais de organizao do territrio por intermdio
da fundao dos primeiros ncleos urbanos. O segundo momento
da intensa explorao da borracha extrada da seringueira (Hevea
brasiliensis) que, por sua valorizao crescente no mercado externo,
desencadeou um desenvolvimento econmico sem precedentes, e
a conseqente expanso regional do Ciclo da Borracha. At meados
Historicamente, essa regio foi ocupada pela agricultura familiar,
cuja organizao e explorao tradicional da terra mantm vnculos e
interaes que garantem, ainda hoje, a conservao de remanescentes
do bioma original. A partir do incio da dcada de 70, o processo de
mecanizao agrcola suprimiu quase totalmente essa explorao tradi-
cional, que somente predomina na regio centro-sul do Paran, que no
por mera coincidncia onde se encontra a mais extensa rea de cobe-
rtura orestal no Estado. A Figura 3 apresenta a rea dos remanescentes
nos municpios em relao rea total do mesmo.
Fig.3
rea dos municpios paranaenses cobertas por remanescentes da oresta com Araucria em
relao sua rea total.
71
da dcada de 70, a base do setor produtivo da regio encontrava-se
intimamente ligada ao extrativismo da borracha e, em menor grau, da
castanha.
A partir da dcada de 70, as polticas pblicas que passaram a ori-
entar mais fortemente a ocupao regional, por intermdio da denomi-
nada Operao Amaznica, causaram profundas transformaes socio-
econmicas. Vrios programas de desenvolvimento concebidos pelo
Governo Federal incentivaram a implantao de grandes rodovias que
serviram de estmulo entrada de migrantes e de capital na explorao
mineral, pecuria e orestal.
A formulao e execuo de polticas direcionadas regio
Amaznica por rgos federais e regionais como o Instituto Nacional de
Colonizao e Reforma Agrria - INCRA, Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento Florestal IBDF, Superintendncia do Desenvolvimento da
Amaznia - SUDAM, Banco da Amaznia - BASA, Superintendncia
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, Superintendncia do Desen-
volvimento da Borracha - SUDHEVEA, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuria - EMBRAPA, Ministrio das Minas e Energia e as Foras
Armadas, exerceram papel preponderante na transformao dos cenri-
os socioeconmicos e ambientais, orientando o desmatamento na rea.
So exemplos os Programa de Integrao Nacional - PIN, o Programa
de Redistribuio de Terras e Estmulo Agroindstria do Norte e do
Nordeste - PROTERRA, o Programa Nacional de Incentivo Produo
de Borracha Natural - PROBOR, o Programa de Plos Agropecurios e
Agrominerais da Amaznia - POLAMAZNIA, o Programa Integrado de
Desenvolvimento do Noroeste do Brasil - POLONOROESTE e o Programa
de Desenvolvimento Rural Integrado - PDRI, todos estruturados em con-
sonncia com as orientaes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento
(PND I, II e III) e Planos de Desenvolvimento da Amaznia (PDA I e II). A
implantao de um moderno sistema hidrovirio, como o grande porto
graneleiro de Porto Velho no rio Madeira, pode gerar novas transforma-
es nas relaes produtivas na Amaznia Ocidental.
Da mesma forma, a frao costeira da Amaznia, que se estende
do Maranho at o Amap vem sendo, nos ltimos anos, submetida a
uma intensicao no uso do territrio, sugerindo que a expanso da
ocupao humana, que j foi devastadora em outras partes da costa
brasileira, est efetivamente alcanando essa rea. O efeito da fragmen-
tao de reas midas para as populaes de aves limcolas migratrias
intercontinentais, permite levantar futuras conseqncias negativas (ver
Captulo 6: Aves e Captulo 11: Gentica de Populaes Naturais). O
desenvolvimento turstico na zona costeira, materializado na construo
de estradas, hotis, residncias, bares e restaurantes provocaram o ater-
ramento de partes do manguezal, atuando como fator de fragmentao
da praia, mangue e restinga.
A barragem de rios tambm tem gerado o aparecimento de dife-
rentes tipos de fragmentos em ecossistemas aquticos. Tais empreen-
dimentos iniciaram-se no Brasil no m do sculo XIX e incio do XX.
Seu auge ocorreu entre as dcadas de 60 e 80, quando a construo de
inmeras represas para gerao de energia, de abastecimento de gua
e de aproveitamento mltiplo, teve importante papel no crescimento
econmico do pas. Essas barragens acarretaram inmeras modica-
es nas caractersticas naturais dos rios e tambm nas comunidades
biolgicas (ver Captulo 8: Organismos Aquticos).
72
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
2. Processos migratrios e de adensamento populacional
A populao brasileira, ao mesmo tempo em que vem reduzindo
seu ritmo de crescimento vegetativo, concentra-se cada vez mais nas
reas urbanas. Os nicos estados brasileiros que no tiveram uma
reduo da populao residente em rea rural foram Rondnia, Acre,
Amazonas, Roraima, Sergipe, So Paulo e o Distrito Federal. Este pro-
cesso de urbanizao promovido em parte pelos uxos migratrios
inter e intra-regionais, em parte pela prpria dinmica scio-espacial do
ambiente urbano tem gerado presses sobre os fragmentos orestais
localizados nas reas de inuncia das cidades em expanso, processo
notrio na Mata Atlntica.
Algumas regies tm atrado migraes humanas por meio de incen-
tivos nanceiros e de projetos de desenvolvimento e de assentamento,
como ocorre, de um modo geral, na regio Norte do pas, onde esse
movimento tem tido forte inuncia na fragmentao dos ecossistemas.
Entre a dcada de 70 e o incio do sculo XXI, a populao brasileira cres-
ceu 79%. A Tabela 1 mostra que no mesmo perodo a Amaznia, a regio
Norte, o Acre e o sudeste acreano cresceram 155%, 208%, 159% e 203%,
respectivamente. Esse incremento populacional acima da mdia nacio-
nal foi decorrente da poltica de ocupao e integrao dessa regio,
onde a criao de centenas de assentamentos rurais serviu de forte atra-
o para migrantes provenientes do centro-sul e nordeste.
Tabela 1. Populao Total 1970-2000
Localidade
Ano Brasil Amaznia
*
Norte Acre Sudeste-AC
1970 94.508.583 7.721.715 4.188.313 215.299 132.085
1980 121.150.573 11.531.167 6.767.249 301.303 195.521
1991 146.917.459 16.077.945 10.257.266 417.165 295.470
1996 157.070.163 18.746.274 11.288.259 483.593 346.203
2000 169.590.693 19.660.989 12.893.561 557.226 399.904
Fontes: MARTINELLO, P., 1985
7
; RANCI, C. M. D., 1992
8
; ACRE, 2000
9
; IBGE, 2002
10
.
* Corresponde a Amaznia Legal, composta dos Estados do Acre, Amap, Amazonas, Par, Rondnia, Roraima, Tocantins,
Mato Grosso e Maranho.
Os movimentos migratrios que at a dcada de 70 dependiam da
via uvial, passaram gradativamente, a ser facilitados pela expanso da
malha rodoviria da regio. Um bom exemplo de inuncia da estrutura
viria pode ser observado pelo padro de ocupao do Estado do Acre.
Enquanto no sudeste acreano a abertura de estradas como a BR-364
(Rio Branco-Porto Velho-Cuiab-Braslia) e a BR-317 (Rio Branco-Xapuri-
Brasilia) favoreceu a intensicao do contato com frentes demogr-
cas externas, o oeste do Estado, por no contar com estradas transi-
tveis, permaneceu quase inacessvel migrao
11
.
A facilidade de acesso para o escoamento da produo agro-
pecuria permitiu que os proprietrios das terras, madeireiros e colonos
partissem para a explorao indiscriminada das orestas existentes ao
longo das rodovias BR-364 e BR-317. O recente asfaltamento parcial
deste sistema virio faz supor que haver um aumento da presso
antrpica sobre os recursos naturais no sudeste acreano.
73
Crescimento demogrco rural e urbano no Brasil, Rio de Janeiro e municpios de Guapimirim
e Cachoeiras de Macacu, RJ em 1991 e 2000.
Fonte: IBGE - Censo Demogrco 2002
4
.
Fig.4
A urbanizao da populao na Amaznia vem se dando de modo
mais lento do que o observado no restante do Brasil. At 1970 a popu-
lao da regio localizava-se majoritariamente na zona rural, quando
a maioria da populao brasileira j vivia em rea urbana. A partir da
dcada de 80 vem predominando a populao urbana que j correspon-
dia em 2000, a 68% da populao da regio. Os conitos fundirios pela
posse da terra, a crise no extrativismo da borracha e as diculdades de
produo enfrentadas nos projetos de colonizao, respondem pela
maior parte do xodo rural na regio.
A atrao de uxos migratrios no se d apenas por intermdio
de polticas nacionais e regionais. Devido s suas especicidades, s
polticas de assentamento rural e de incentivo ao turismo, algumas
localidades vm atraindo migrantes e mantendo um crescimento popu-
lacional diferenciado da tendncia nacional observada. Essa concentra-
o populacional inuencia no s os processos de fragmentao como
tambm os padres de ocupao do entorno dos fragmentos e, conse-
qentemente, nos pers de presso antrpica exercidos sobre eles.
O desenvolvimento do Projeto Fragmentao Sutil permitiu perce-
ber que esse fenmeno tem repercusses diferentes em localidades dis-
tintas, como pode ser observado em dois municpios do Estado do Rio
de Janeiro. O crescimento da populao urbana nos municpios de Gua-
pimirim e de Cachoeiras de Macacu foi bem maior do que o vericado
tanto no Brasil quanto no Estado do Rio de Janeiro, como pode ser visto
na Figura 4. A populao urbana de Guapimirim aumentou em quase
40% na ltima dcada, e a de Cachoeiras de Macacu em cerca de 28%,
enquanto a populao brasileira cresceu menos de 16%. O crescimento
da populao rural de Guapimirim foi de 30% enquanto em Cachoeiras
de Macacu esta foi reduzida em quase 10%.
74
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
Fig.5
Guapimirim faz parte da Regio Metropolitana do Rio de Janeiro e
conta com bons acessos virios para a regio. Cerca de 45% do seu ter-
ritrio ocupado por Unidades de Conservao, sendo freqentemente
denominado de Municpio Ecolgico, fato que funciona como um forte
atrativo de pessoas da Regio Metropolitana que buscam residncias
destinadas ao lazer e recreao. O crescimento de residncias de uso
ocasional gera uma demanda por servios e mo-de-obra relacionada
s atividades de construo, manuteno, conservao e segurana,
atraindo um contingente populacional proporcionalmente grande, tanto
para a rea urbana quanto rural do municpio.
Uma estimativa da inuncia da presso exercida por esta popula-
o pode ser obtida pelo nmero de domiclios de ocupao ocasional.
A Figura 5 mostra que a proporo de domiclios de uso ocasional na rea
urbana, tanto em Guapimirim quanto em Cachoeiras de Macacu, bem
maior do que a observada no Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria
de Turismo de Guapimirim estima que cerca de 3.000 das residncias
existentes no municpio so utilizadas para o lazer. A Figura 6 ilustra esta
tendncia em relao rea rural.
As Unidades de Conservao que abrangem terras do municpio de
Guapimirim como o Parque Nacional da Serra dos rgos e a Estao
Ecolgica Estadual do Paraso, onde se localiza o Centro de Primatologia
do Rio de Janeiro, ainda tm questes de regularizao fundiria a serem
resolvidas, pois parte de suas terras ainda esto sob domnio privado e,
portanto, sujeitas ocupao por residncias destinadas ao lazer.
Na rea rural desses dois municpios tm ocorrido muitas trans-
ferncias de propriedade. Em muitos casos o novo uso tambm vin-
culado ao lazer, sendo observado que os novos proprietrios destinam
a residncia original da propriedade aos caseiros e constroem novas
casas para uso prprio, localizando-as nas proximidades dos fragmen-
tos. necessria orientao desse crescimento municipal, minimizando
a presso antrpica no entorno dos remanescentes orestais e gerando
condies mais favorveis de sustentabilidade ambiental.
O adensamento populacional tem atuado tambm de forma drsti-
ca na fragmentao de reas costeiras no Amap, Par e Acre devido ao
Distribuio dos domiclios urbanos por categoria de ocupao no Estado do Rio de Janeiro e
nos municpios de Cachoeiras de Macacu e Guapimirim
Fonte: IBGE - Censo Demogrco 2002
4
.
75
processo de urbanizao, sendo que em vrios casos, j no possvel
qualquer conectividade entre os fragmentos remanescentes.
A construo de bares, residncias, hotis e estradas em um dos
fragmentos estudados pelo Projeto Aves Migratrias na praia do Maari-
co, municpio de Salinpolis (PA), demandou aterro dos manguezais e
a construo de pontes, fatores que causaram o isolamento parcial dos
fragmentos de restinga e mangue. As conseqncias negativas desses
empreendimentos nas populaes de aves limcolas migratrias ainda
no esto absolutamente claras.
Essa rea recebe altas concentraes de espcies de maaricos
(Calidris pusilla, C. minutilla, Charadrius semipalmatus, Arenaria
interpres, Pluvialis squatarola), bem como populaes de gaivotas
(Larus cirrocephalus) e de trinta-ris (Sterna hirundo) que a utilizam
como rota migratria. Censos populacionais realizados no perodo de
retorno para a Amrica do Norte em 1999 e 2000, revelaram populaes
em torno de 3.000 maaricos migratrios nesta praia. As obras realizadas
assorearam algumas reas utilizadas pelas aves como fonte de alimentos
para a aquisio de gordura suciente para a realizao das migraes.
Entretanto, os dados disponveis e o tempo de estudo no permitem
ainda precisar a evoluo da dinmica dos sedimentos nesse trecho
da costa, ou seja, se grandes reas sero assoreadas pelo processo
decorrente das alteraes antrpicas. Um outro efeito negativo direto foi
vericado em relao iluminao da praia com holofotes apontados em
direo ao mar, tendo sido registrado que as espcies, principalmente
de aves costeiras, evitavam essas localidades iluminadas.
As cidades localizadas ao longo da costa como So Lus (MA) e
Salinpolis (PA) e outras praias habitadas, apresentam uma crescente
ocupao humana. Muitas dessas reas so de extrema importncia
Distribuio dos domiclios rurais por categoria de ocupao
Fonte: IBGE - Censo Demogrco 2002
4
.
Fig.6
76
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
para algumas espcies como o maarico do peito vermelho (Calidris
canutus) e o maariquinho (C. pusilla), que se reproduzem no rtico
canadense e migram para a costa da Amrica do Sul, em especial a
Ilha de So Lus. Caso esse crescimento no seja controlado e passe
a abranger todo o trecho da zona costeira, o futuro dessas e de outras
12 espcies de aves migratrias, estar ameaado. Essas espcies
necessitam acumular gordura para a realizao de vos, em geral sem
parada, partindo do Maranho em direo costa leste dos Estados
Unidos. A degradao deste stio dicultar o processo de acmulo de
gorduras e, muito provavelmente, essas populaes no encontraro
outras reas com uma produtividade equivalente, correndo o risco de
extino.
3. Estrutura fundiria e uso da terra
O processo de ocupao do territrio , na maioria das vezes, inu-
enciado pelas polticas pblicas de infraestrutura viria, de assentamen-
to e de fomento produo agrcola e pecuria. Ele se reete na estru-
tura fundiria e nos diferentes tipos de uso da terra. H uma correlao
direta entre desmatamento e abertura de estradas e, se essas estradas
so asfaltadas, a presso torna-se ainda maior.
Na Amaznia, o seringal foi a unidade econmico-social mais
expressiva, formando a primeira grande unidade de produo. Na dca-
da de 60, os seringalistas inadimplentes venderam suas propriedades
por preos irrisrios aos compradores de terras sulistas. Esse processo
foi simultneo s profundas transformaes sociais e econmicas no
pas e a crescente interveno do Estado na regio amaznica. Novos
atores e polticas pblicas modicaram o quadro econmico-social at
ento vigente
12
.
A regularizao fundiria das terras da regio Amaznica e, em
particular, do estado do Acre, teve uma proposta oriunda das popula-
es tradicionais, baseada na concepo de que as reas extrativistas
deveriam ser de domnio da Unio, concedidas sob condomnio aos
seringueiros para que as manejassem como Reservas Extrativistas. Na
denio dos prprios seringueiros, Reserva Extrativista uma forma de
garantia contra a invaso dos poderosos, contra os criadores de bfalos,
os fazendeiros, e vai tambm dar direito a ter a sua terra, a libertar os
extrativistas dos patres, da renda e dos marreteiros, de evitar os des-
matamentos, de garantir sua vida na oresta e criar seus lhos
13
. Cria-
das na dcada de 80, as Reservas Extrativistas foram reconhecidas pelo
Sistema Nacional de Unidades de Conservao SNUC.
A expanso da fronteira agrcola na Amaznia nas ltimas trs
dcadas, ampliou os conitos na luta pela terra, causando grande
tenso social em toda a regio. Podem ser identicados vrios grupos de
interesse atuando na apropriao da fronteira de recursos amaznicos.
Alm dos seringalistas, destacam-se os novos proprietrios pecuaristas,
os posseiros extrativistas, os madeireiros e os povos indgenas.
Esses grupos representam as foras sociais que encarnam a prpria
contradio entre a preservao do patrimnio natural e a ocupao
77
predatria
14
. As polticas fundirias existentes no tm conseguido deter
a luta pela terra nem a devastao de grandes reas para dar espao
minerao e agropecuria.
Nas demais regies do pas, o processo de ocupao do territrio
foi ligado aos ciclos econmicos, entre eles os dos produtos agrcolas.
Em termos histricos, no Estado do Paran como um todo e, por con-
seguinte, na rea de ocorrncia da Floresta com Araucria, as transfor-
maes mais signicativas ocorreram quando reas novas foram incor-
poradas pela intensa explorao agrcola, a partir da dcada de 1970.
Paralelamente intensicao dos processos produtivos, vericam-se
fenmenos importantes como a mudana da base produtiva (introduo
de novos produtos, intensicao da monocultura, moto-mecanizao,
produo nanciada), a concentrao da terra e o xodo rural.
Na rea geogrca compreendida pela Floresta com Araucria, a
intensicao na explorao do uso da terra menor, pois as condies
dos recursos naturais so menos favorveis. No por outra razo
que a maior a ocorrncia de matas e orestas naturais, de lavouras
temporrias em descanso e de terras produtivas no utilizadas. No sig-
nica, porm, que as terras contidas nessas categorias estejam isentas
de avanos da fronteira agrcola ou do extrativismo.
A estrutura fundiria na rea de Floresta com Araucria no muito
diferente quando comparada com a do Paran como um todo. A Tabe-
la 2 mostra que ocorrem os mesmos padres de concentrao da terra e
o mesmo predomnio numrico dos pequenos estabelecimentos. Pouco
mais de 13% dos estabelecimentos detm quase 75% da rea com ocor-
rncia de fragmentos de Floresta com Araucria.
Tabela 2. Estrutura fundiria no bioma Floresta com Araucria (FA) em comparao com a do Estado do
Paran (PR)
ESTRUTURA
FUNDIRIA
rea dos estab.
na FA
Nmero de estab.
na FA
Proporo entre
reas estab.
FA/PR
Proporo entre
nmero de estab.
FA/PR
ESTRATOS DE REA
(ha)
REA (ha) % N
O
% % REA % N
O
Menos de 1 a < 10 376.406 4,7 74.861 41,89 47,5 48,4
10 a < 50ha 1.796.262 22,6 79.567 44,53 49,4 48,8
50 a < 200ha 1.679.486 21,1 18.001 10,10 45,9 46,5
200 a < 1000ha 2.165.282 27,2 5.492 3,07 46,4 46,0
1000 a < 5000ha 1.339.416 16,8 739 0,41 55,2 53,3
5000ha e mais 601.382 7,6 43 0,02 78,0 67,2
Sem declarao - - 5 - 0,0 7,4
Soma 7.958.234 100,0 178.708 100,00 - -
Fonte: IBGE - Censo Agropecurio 1996
15
Os diferentes tipos de uso da terra so reexos da estrutura
fundiria e das possibilidades propiciadas pelo bioma para a sua ocu-
pao e conseqente devastao. Desde a dcada de 70 as atividades
relacionadas agropecuria vm substituindo a vegetao de cerrado
nos Estados do Maranho, Mato Grosso, Tocantins e, em menor grau,
em Roraima e Rondnia. Esse tipo de vegetao propiciou a implantao
de pastagens para criao de gado em regime extensivo. Nos anos 90
78
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
Proporo do desmatamento nos Estados da Amaznia Brasileira, em relao a sua rea total,
em janeiro de 1978 e em agosto de 1999.
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, 2002
16
.
Fig.7
Os dados do censo agropecurio de 1996
15
mostram que as reas
dos estabelecimentos rurais no Brasil, Amaznia e Acre correspondem,
respectivamente, 42%, 24% e 21% do territrio nacional. Esses dados
incluem apenas as pesquisas das propriedades, excluindo-se as Unidades
de Conservao, as terras devolutas e as no discriminadas pela Unio.
Por conta da excluso dessas reas, possvel que os ndices de uso do
solo em relao ao total para a Amaznia e o Estado do Acre no sejam
to mais baixos do que os brasileiros. A partir da Tabela 3, observa-se que
o uso do solo no Brasil predominantemente constitudo de pastagens,
seguido de matas e de lavouras temporrias.
Tabela 3. rea dos estabelecimentos rurais (ha), segundo o uso da terra.
Utilizao das terras
Regio Geogrca
Brasil Amaznia Acre
rea % rea % rea %
Lavouras permanentes 7.541.626 2,1 978.159 0,8 16.520 0,5
Lavouras temporrias 42.562.858 12,0 7.370.524 6,1 104.417 3,3
Pastagens 177.700.472 50,2 51.149.235 42,4 614.214 19,3
Matas e orestas naturais 88.897.582 25,1 49.826.092 41,2 2.327.114 73,1
Matas e orestas articiais 5.396.016 1,5 349.911 0,3 11.298 0,4
Terras produtivas no utilizadas 16.360.085 4,6 6.893.072 5,7 55.243 1,7
Terras inaproveitveis 15.152.600 4,3 4.202.234 3,5 54.259 1,7
Total 353.611.239 100,0 120.769.228 100,0 3.183.065 100,0
Fonte: IBGE - Censo Agropecurio 1996
15
.
muitos produtores de gado passaram a ocupar as reas de pasto com o
cultivo da soja e do algodo.
A Figura 7 mostra o percentual de reas orestais na Amaznia
Brasileira que perderam espao, principalmente, para as atividades
agropecurias. Verica-se que o Estado do Mato Grosso, Tocantins e
Maranho, alm de Rondnia e Par, apresentam os maiores ndices de
rea desmatada total.
79
Um fato que chama a ateno o baixo ndice das culturas permanen-
tes na Amaznia e Acre quando, pelas caractersticas ambientais, climticas
e socioeconmicas da regio, esses cultivos deveriam predominar.
Analisando-se os dados da utilizao das terras no Paran, observa-
se que a rea de abrangncia da Floresta com Araucria de 50% do
territrio do Estado.
Comparativamente, o uso do solo na rea de ocorrncia da Floresta
com Araucria e no Estado (Tabela 4), mostra que a primeira apresenta
as maiores freqncias de utilizao em seis das nove categorias con-
sideradas. A ocupao das terras na rea de ocorrncia da Floresta com
Araucria s menor para lavouras temporrias (45%), pastagens plan-
tadas (30%) e lavouras permanentes (27%). Para as demais categorias,
a Floresta com Araucria ainda ocupa reas signicativas, submetidas
ao uso menos intensivo, ou o no uso, caso das terras produtivas no
utilizadas e das terras inaproveitveis.
Tabela 4. Utilizao das terras no bioma Floresta com Araucria (FA) em comparao com o uso do Estado
do Paran (PR)
FORMA DE UTILIZAO
FA PARAN FA/ PARAN
(ha) % (ha) %
Lavouras permanentes 83.442 1,0 311.374 1,9 0,27
Lavouras temporrias 2.175.582 27,4 4.789.135 30,0 0,45
Lavouras temporrias em descanso 306.665 3,8 390.272 2,5 0,79
Pastagens naturais 921.562 11,6 1.377.484 8,7 0,67
Pastagens plantadas 1.614.957 20,3 5.299.828 33,2 0,30
Matas e Florestas Naturais 1.538.813 19,3 2.081.587 13,0 0,74
Matas e Florestas Articiais 619.493 7,8 713.126 4,5 0,87
Terras produtivas no utilizadas 210.534 2,7 258.872 1,6 0,81
Terras inaproveitveis 487.186 6,1 724.954 4,6 0,67
Total 7.958.234 100,0 15.946.632 100,0 0,50
Fonte: IBGE - Censo Agropecurio 1996
15
Em uma anlise conduzida na bacia do rio Macacu (RJ) foram iden-
ticados trs tipos bsicos de ocupao espacial dentro dos quais se
inserem todas as reas do entorno dos fragmentos da Floresta Atlntica.
O primeiro constitudo por uma nica propriedade, ou seja, o fragmen-
to se encontra dentro da propriedade. O segundo composto por duas
ou mais propriedades rurais de pequeno porte. O terceiro composto
por reas com caractersticas de expanso urbana e por reas rurais
ocupadas por pequenas e(ou) mdias propriedades.
Nas entrevistas realizadas em quase todas as propriedades rurais e
nos levantamentos nas reas de expanso urbana, foram identicados
alguns fatores sugestivos de que as atividades humanas so as mais
impactantes dos fragmentos. No entorno observa-se a existncia de
propriedades rurais agropecurias e propriedades destinadas ao lazer,
nas quais a atividade produtiva no fundamental para a composio
da renda dos proprietrios. Todas as propriedades, produtivas ou no,
empregam algum tipo de mo-de-obra.
80
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
Os dados obtidos permitem armar que o tamanho dos fragmentos
no apresenta nenhuma relao com o tamanho das propriedades que
compem o entorno. Os mesmos dados mostram que o nmero de esp-
cies de pequenos mamferos coletados tende a ser maior nos fragmentos
situados nas grandes propriedades, o que no signica necessariamente
que a diversidade biolgica seja a mesma dos remanescentes originais,
ou seja, que haja algum tipo de fragmento que apresente melhor estado
de conservao. Outros estudos vm sendo desenvolvidos buscando
observar se os diferentes tipos de estrutura fundiria e uso do solo tm
implicaes na qualidade dos fragmentos de Mata Atlntica no Estado
do Rio de Janeiro.
4. Agricultura e pecuria
A agricultura e a pecuria exercem forte presso tanto sobre as o-
restas como ecossistemas abertos, causando perda de biodiversidade.
Desmatamentos, uso do fogo, superpastoreio, monocultura, a mecaniza-
o intensiva e, principalmente, o uso indiscriminado de agrotxicos,
diminui a diversidade da ora e da fauna e alteram a qualidade e dis-
ponibilidade de gua, quer pela contaminao por agrotxicos quer pelo
assoreamento decorrente da eroso dos solos.
O uso do fogo com o objetivo de eliminar restos de vegetao no
solo, reformar pastagens ou de facilitar o cultivo, constitui-se em alter-
nativa barata e rpida para muitos agricultores
11
. Entretanto, essa prtica
traz mais prejuzos do que benefcios, pois os nutrientes liberados com
as queimadas so rapidamente volatilizados, e a queima de restos de
cultura destri a camada de matria orgnica do solo e os microorga-
nismos ali presentes
17
.
O uso de fertilizantes no mundo aumentou de 14 milhes em 1950
para 131 milhes de toneladas em 1986, tornando as lavouras to depen-
dentes que o incremento na quantidade de fertilizantes no mais acar-
reta aumento das safras. O seu uso indiscriminado causa a eutrozao
de corpos dgua. Parte dos fertilizantes so carreados e alimentam os
organismos presentes na gua como as bactrias, que aumentam a
produo de gs carbnico e consomem grande parte do oxignio ali
presente, dicultando a presena de peixes e algas. Alm disso, a gua
torna-se turva dicultando a passagem de luz e diminuindo a ocorrncia
de plnctons, principal alimento dos peixes. A fertilizao da gua vem
ocorrendo devido ao uso constante e abusivo de adubos qumicos con-
tendo principalmente nitrognio, fsforo e potssio.
Os agrotxicos tambm so amplamente utilizados nas plantaes
para evitar que as pragas comprometam a produo. Herbicidas, como o
Roundup, so utilizados com freqncia para capina qumica de lavouras
e limpeza das propriedades. Formicidas so utilizados principalmente
em culturas orestais como eucaliptos e Pinus.
Dados da regio de Viosa (MG), indicam que em 41% das pro-
priedades da regio utilizam-se agrotxicos. A falta de cuidados com a
utilizao desses produtos quase generalizada sendo freqente, prin-
cipalmente, em propriedades produtoras de caf, a aplicao em dosa-
gens no controladas, o desrespeito aos prazos de carncia e o descarte
81
inadequado de embalagens. Alguns moradores da regio relatam casos
de mortandade de pssaros em cafezais, aps aplicao de agrotxicos.
Esse fenmeno, porm, no foi observado durante as entrevistas com os
moradores nem durante os censos das aves. Os efeitos das aplicaes
de agrotxicos sobre as espcies tpicas dos fragmentos orestais so,
portanto, difceis de serem mensurados, mas no devem ser desconsi-
derados.
Na regio de Viosa so extremamente raros os fragmentos que
contm cursos dgua em seu interior uma vez que a maioria deles se
localiza em encostas e topos de morro
18
. Ainda assim, o carreamento de
agrotxicos para cursos dgua que nascem ou passam no interior dos
fragmentos, deve ser considerado como um agravante a mais para esp-
cies que dependem desses ambientes. Esse o caso de um pequeno
pssaro encontrado principalmente ao longo de crregos dentro de
fragmentos orestais ou em estreitas faixas de rvores, o joo-porca
(Lochmias nematura), que alm de ocupar o restrito espao disponvel
enfrenta o problema da contaminao dos crregos por agrotxicos.
A maioria das propriedades visitadas possui uma pequena rea de
pasto contgua mata e h livre acesso de bovinos e eqinos ao inte-
rior dos fragmentos, especialmente na poca da seca. Esses animais
contribuem para a degradao do fragmento orestal, j que o pisoteio
excessivo juntamente com o pastoreio de plantas nativas do sub-bosque,
danica consideravelmente esse estrato da vegetao e causa degrada-
o dos solos (Figuras 8 a 10).
Alm dos efeitos devidos presena fsica da criao de animais
prximos aos fragmentos, deve-se considerar tambm a poluio causa-
Presena de rebanho bovino nos fragmentos, na regio de Viosa - MG Fig.8
R
m
u
l
o
R
i
b
o
n
82
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
Sub-bosque degradado em funo da presena de rebanho bovino nos fragmentos, na regio
de Viosa - MG
Eroso do solo em funo de pastoreio intensivo, na regio de Viosa - MG
Fig.9
Fig.10
da pela atividade pecuria, pois grande parte do nitrognio contido no
esterco animal transformado em nitrato, fonte signicante de contami-
nao das guas subterrneas e superciais
3
. Outros agentes contami-
nantes so os estreptococos e os coliformes fecais presentes nas fezes
carreadas para os cursos de gua, podendo contaminar outros animais,
alimentos e o prprio homem.
No Paran, a observao da rentabilidade dos cultivos per-
mite entender o avano da agricultura de gros sobre a Floresta com
Araucria. Comparando-se o valor da produo das diferentes formas de
uso do solo na regio, verica-se que tanto no Estado do Paran como
na rea especca de ocorrncia da Floresta com Araucria predominam
as lavouras temporrias (Tabela 5).
R
m
u
l
o
R
i
b
o
n
R
m
u
l
o
R
i
b
o
n
83
Tabela 5. Comparao entre o valor da produo das diferentes formas de utilizao da terra na rea de ocor-
rncia da Floresta com Araucria (FA) e no Estado do Paran
Floresta com
Araucria
(R$)
%
PARAN
(R$) %
Floresta com
Araucria/ PARAN
Lavouras temporrias 1.303.198.649 89,9 3.210.653.312 89,3 40,6
Extrao vegetal 53.728.764 3,7 58.302.387 1,6 92,1
Lavouras permanentes 47.657.330 3,3 233.145.962 6,5 20,4
Produo animal 44.725.398 3,1 91.877.856 2,6 48,7
Total 1.449.310.140 100,0 3.593.979.517 100,0
Fonte: IBGE - Censo Agropecurio, 1996
15
Pode-se vericar que 40,6% da produo das lavouras temporrias
so obtidos na rea da Floresta com Araucria, que concentra 45% das
terras no estado ocupadas com esse tipo de lavoura, sugerindo que a
produtividade das lavouras temporrias menor aqui do que no res-
tante do Estado. Em contrapartida, os valores obtidos com a extrao
vegetal na mesma regio, representa 92,1% da economia extrativista do
Estado.
As mais expressivas lavouras temporrias so a da soja e do milho
que juntas, representam mais de 70% do valor da produo na rea de
ocorrncia da Floresta com Araucria. Tambm so as mais importantes
quanto rea ocupada, com mais de 73% da rea das lavouras tem-
porrias.
O fumo a quarta lavoura em valor da produo, e embora ocupe
menor rea, uma lavoura de impactos signicativos. Segundo a Secre-
taria da Agricultura do Paran
19
, na safra 95/96 a produo de fumo em
folha no Estado, foi de 59.528 ton, em 34.446ha. Esta uma atividade
importante em valor da produo (R$ 2.375,00/ha em mdia) e em ocu-
pao de trabalhadores, mas com impactos signicativamente desfa-
vorveis ao ambiente. Usam-se grandes quantidades de agrotxicos e
de lenha para secar as folhas do fumo. A dimenso dos impactos ambi-
entais, tanto relacionados ao desmatamento quanto contaminao dos
solos e cursos de gua, pode ser melhor entendida a partir das seguintes
informaes:
Na rea de ocorrncia da Floresta com Araucria existem 16.414
estufas, que consomem em mdia, 60m
3
de lenha cada uma a cada safra,
totalizando 984.840m
3
por safra;
Na produo convencional de fumo em folha, usa-se 30kg de
agrotxicos por estufa ( 2ha plantados/estufa), totalizando 492.420kg
desses produtos por safra;
A aplicao de fertilizantes qumicos de 24,5 sacos de 50kg/ha,
somando 804.286 sacos desses produtos por safra.
Se comparados ao Paran e aos demais estados do Brasil, a ativi-
dade agrcola na Amaznia (arroz, milho, feijo, mandioca, melancia,
abacaxi, cana-de-acar, malva, juta, algodo e soja) vem crescendo
em ndices relativamente altos na ltima dcada. H uma concentrao
na rea de fronteira agrcola, que compe o arco de desmatamento da
Amaznia com expanso de pastagens e da rea plantada com soja (Fig-
ura 11) e algodo (Figura 12).
84
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
Na dcada de 90, a rea plantada das principais culturas temporrias
aumentou 43% na Amaznia, 36% no Norte, somente 3% no Brasil, e
decresceu 2% e 18% no Acre e Sudeste Acreano. A produtividade dessas
culturas aumentou em mdia 24% no Brasil, 32% na Amaznia e 12% no
Sudeste Acreano, fruto da incorporao de novas tecnologias.
Com relao s culturas permanentes no mesmo perodo, a anlise
foi efetuada nos produtos de maior importncia para a regio Amazni-
ca, dentre eles, banana, seringueira, cacau, caf, pimenta-do-reino,
pupunha, guaran, urucum e dend. Houve uma retrao de 12,5% no
total da rea plantada dessas culturas no Brasil, mantendo-se estvel
na Amaznia, crescendo 48% no Acre e 58% no Sudeste Acreano. A
produtividade dessas culturas aumentou cerca de 40% no Brasil, 17% na
Amaznia e diminuiu 9% no Acre e Sudeste Acreano no mesmo perodo,
sugerindo que a incorporao de tecnologias ocorreu de modo desigual
no Brasil.
Tomando-se rebanhos de bovinos, sunos, ovinos, bubalinos, eqi-
nos, caprinos e aves, verica-se um incremento substancial, particular-
mente da criao de gado bovino em regime extensivo, com nfase para
o aumento nas reas de fronteira agrcola da Amaznia.
A pecuria vem se expandindo de forma acelerada nos ltimos 30
anos na Amaznia e no Acre. A criao de gado bovino predominante,
com um efetivo de 48 milhes de cabeas no ano 2000, correspondente
a 28% do rebanho nacional. Houve um incremento de 82% em relao ao
ano de 1990, sendo que no mesmo perodo, o rebanho nacional cresceu
a uma taxa de 15%.
Na Amaznia o rebanho bovino principalmente voltado
produo de carne, concentrando-se em grandes e mdias propriedades.
rea ocupada com plantao de soja na Amaznia em comparao com a rea ocupada no
Brasil, no perodo de 1990-2000
Fonte: IBGE Produo Agrcola Municipal, 2002
20
Fig.11
rea ocupada com plantao de algodo na Amaznia em comparao com a rea ocupada no
Brasil, no perodo de 1990-2000
Fonte: IBGE Produo Agrcola Municipal, 2002
20
Fig.12
85
Entretanto, a criao de gado em pequenas propriedades tem avanado
bastante na ltima dcada. No Estado do Acre, 82% do rebanho tem a
nalidade de produo de carne, concentrando-se em grandes e mdias
propriedades. A maioria da criao leiteira localiza-se em pequenas e
mdias propriedades.
Quanto ao estado do Rio de Janeiro, mais especicamente bacia
do rio Macacu, a produo agropecuria marcada por uma convivn-
cia entre prticas rudimentares de pequenas criaes domsticas e
estabelecimentos maiores com criao extensiva de gado de corte e a
produo de leite. A maioria das fazendas que so exploradas comer-
cialmente ou para recreao tem alguma criao de gado. Uma parte
das fazendas tem criaes destinadas venda para o abate enquanto
outras produzem leite. Uma cooperativa local processa atualmente mais
de 450.000l/ms, volume que representa a maior parte do leite produzido
nos municpios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu.
Garantindo acesso aos insumos e propiciando melhorias na
produo e no processamento do leite, a cooperativa um importante
elemento dentro da dinmica do uso do solo rural. Sendo assim, pea
chave para se compreender as mudanas locais que, associadas a deter-
minadas conjunturas, situao do mercado, polticas pblicas setoriais
etc., podem levar a intensicao no uso do territrio e, conseqente-
mente, ao desmatamento e degradao ambiental.
5. Extrativismo vegetal e silvicultura
O aumento populacional um fator que acelera o processo de des-
matamento. Alm das reas abertas para a agropecuria, mais rvores
so cortadas para suprir as necessidades humanas de carvo vegetal, de
madeira para construo civil, de papel, entre outros produtos obtidos a
partir da oresta. A extrao seletiva piora a qualidade das matas e inter-
fere na manuteno da ora e fauna. A retirada de galhadas secas retira
o abrigo e refgio da fauna silvestre, alm de diminuir a quantidade de
nutrientes no solo por interromper a ciclagem de nutrientes.
Estudos mostram que, independente da regio geogrca, grande
parte dos moradores das reas rurais retira das orestas lenha para uso
na coco de alimentos ou obtm madeira para construo de casas,
currais, pocilgas, cercas, porteiras ou cabos de ferramentas. As matas
existentes nas propriedades so, geralmente, reas de preservao per-
manente.
A atividade orestal ainda forte e presente na maioria dos estados
da Amaznia, assumindo importncia e destaque, embora venha, gra-
dativamente, cedendo espao s atividades agropecurias. Houve um
aumento contnuo na produo de borracha na Amaznia e no Brasil
nos ltimos 11 anos, em funo do aumento da demanda no mercado
interno. A produo na Amaznia, que era de cerca de 31,3 mil toneladas
em 1990, subiu para 65,4 mil toneladas em 2000, um aumento de 109%.
No Brasil a produo passou de 48,3 mil toneladas para 141,2 mil tonela-
das no mesmo perodo, um aumento de 192%. Houve um decrscimo na
extrao nativa e um considervel acrscimo na produo de borracha
cultivada nos Estados de Mato Grosso, So Paulo, Bahia e Esprito San-
86
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
to. No Acre a reduo da produo de 11,9 mil toneladas em 1990, para
2,8 mil toneladas em 2000, reete a crise do setor extrativista gumfero
no estado.
Houve uma tendncia ao declnio da produo de castanha-do-Par.
Isso se deve ao aumento dos desmatamentos nas reas de maior ocor-
rncia (sul do Par e sudeste do Estado do Acre) e gradativa substitui-
o por outras atividades, alm da sazonalidade na produo. Soma-se
a esses fatos a variao nos preos no mercado nacional e internacional,
uma vez que h uma concorrncia com outros tipos de nozes, inuenci-
ando o mercado desse produto.
Nos ltimos anos est havendo um aumento no valor agregado
da castanha e da borracha no Estado do Acre, em funo da instalao
de usinas de beneciamento, da aplicao de tcnicas de marketing e
conseqente abertura de novos mercados. Existe ainda incentivos do
Governo Estadual, que geram mais empregos, renda e tributos numa
busca por uma maior sustentabilidade ambiental.
A produo do aa de extrema importncia na base alimentar
da populao amaznica, sendo que o Par se sobressai com relao
quantidade produzida e ao consumo. Nos ltimos 11 anos a produo
estabilizou-se em aproximadamente 120 mil/T/ano.
A produo de palmito de pupunha, de origem nativa na Amaznia,
vem caindo. Exigncias legais crescentes em relao ao processo produ-
tivo, garantia de qualidade do produto e regularizao das agroinds-
trias se aliam concorrncia do palmito de pupunha oriundo de planta-
es em cultivos para justicar essa queda. A produo, que era de 27
mil toneladas em 1990, caiu para 17 mil toneladas no ano de 2000.
A extrao de madeira nativa vem diminuindo nos ltimos anos
tanto no Brasil como na Amaznia (Figura 13). Isso decorre da falta de
qualicao das empresas que exercem essa atividade, da distncia e
do acesso dicultado matria prima, do aumento da scalizao e das
presses crescentes para a desativao da atividade, por parte do Estado
e da sociedade.
Produo de madeira nativa em toras na Amaznia, na Regio Norte e no Brasil, 1990-2000
Fonte: IBGE, Produo Extrativa Vegetal, 2002
21
Fig.13
87
O principal problema da atividade madeireira na Amaznia
a explorao predatria, sem preocupao com a manuteno dos
estoques e sem plano de manejo orestal, o que tem levado extino
de espcies e outros impactos ambientais negativos profundos. Segundo
tcnicos e scais do IBAMA, nos ltimos cinco anos o patrimnio ambi-
ental amaznico vem sendo gradativamente dilapidado por madeireiras
fantasmas, principalmente no Par, mas tambm em outros locais da
Amaznia. Espcies de alto valor comercial, inclusive o mogno, que est
proibido de ser explorado, vm sendo comercializadas clandestinamente
e de forma irregular. Alm disso, algumas madeireiras que possuem
planos de manejo aprovados pelo IBAMA utilizam artifcios ilegais para
explorar madeira. Vale salientar que os dados da produo de madeira
nativa do IBGE so contestados por um grande nmero de tcnicos que
trabalham em vrias instituies na Amaznia, os quais armam que o
volume explorado na regio pode ser bem maior.
O carvo vegetal, assim como a lenha, so destinados aos fornos e
fogareiros caseiros para cozinhar alimentos, e tambm s fornalhas de
olarias e panicadoras e fornos de metalrgicas e siderrgicas, dentre
outros usos. Houve uma reduo de 50% na produo de carvo vegetal
de madeira nativa entre 1990 e 2000 no Brasil. No entanto, na Amaznia
ocorreu um aumento de 265 mil toneladas para 632 mil toneladas, no
mesmo perodo e no Acre houve uma estabilizao em torno de 2 mil
toneladas.
A produo silvicultural na Amaznia muito baixa se comparada
ao Brasil. No ano 2000, a Amaznia produziu 2,9 milho de metros cbi-
cos de madeira em tora, e a produo total no Brasil foi de 71,7 milho
de metros cbicos. A madeira oriunda de reorestamento na Amaznia
, em sua maioria, destinada produo de celulose, e uma pequena
quantia para produo de carvo e lenha, concentrando as reas plan-
tadas e o consumo no Par, Amap e em menor quantidade no Mato
Grosso.
No Brasil como um todo, o carvo vegetal oriundo da silvicultura
ultrapassou a quantidade de carvo vegetal de madeira nativa durante a
dcada de 90. No entanto, na Amaznia o carvo e lenha originrios de
orestas comerciais so praticamente inexistentes.
A rea de ocorrncia da Floresta com Araucria contribui com quase
a totalidade dos produtos da extrao vegetal no Estado do Paran, como
pode ser observado na Tabela 6, especialmente os produtos tpicos dessa
regio como a erva-mate e pinho (que a semente da araucria ou pin-
heiro brasileiro (Araucaria angustifolia), muito apreciada no sul e sud-
este do pas. De forma surpreendente, demais produtos como madeira
(97,74%), carvo (87,88%) e lenha (78,54%), tm uma participao signi-
cativamente elevada quando se observa que os valores para madeira em
toras no incluem produtos oriundos de reorestamento. evidente que
s se extrai produto de onde existe e, malgrado as precrias condies da
sua cobertura orestal, na rea de ocorrncia da Floresta com Araucria
ainda se concentram grandes e signicativos remanescentes orestais.
Na rea de Floresta Ombrla Densa no Paran, encontram-se tambm
remanescentes signicativos que, em sua maioria, esto protegidos por
leis, como as reas de Proteo Ambiental de Guaraqueaba e de Guara-
tuba, o Parque Nacional do Igua, o Parque Estadual das Laurceas
e outros. Nessas reas, embora haja extrao clandestina de madeira,
88
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
estima-se que seja menor do que ocorre na Floresta com Araucria.
Tabela 6. Valor da extrao vegetal na rea de ocorrncia da Floresta com Araucria e no Paran.
FA PARAN FA / PARAN
PRODUTOS
VALOR DA PRODUO
(R$)
%
VALOR DA PRODUO
(R$)
%
Erva-Mate 18.782.105 34,96 18.894.819 32,41 99,40
Madeira toras 17.116.237 31,86 17.511.907 30,04 97,74
Lenha 12.658.429 23,56 16.116.681 27,64 78,54
Carvo vegetal 3.301.982 6,15 3.757.177 6,44 87,88
Outros1 1.485.897 2,77 1.625.244 0,38 91,42
Pinho 224.407 0,42 224.454 0,06 99,98
Outros2 102.037 0,19 108.522 2,79 94,02
Resinas 34.415 0,07 35.200 0,19 97,78
Outros3 22.466 0,04 28.383 0,05 79,15
Total 53.728.764 100,00 58.302.387 100,00 -
Fonte: IBGE, Censo Agropecurio 1996
15
. Obs: 1 refere-se a dormentes, estacas de madeira, moures, vigas; 2 refere-se a bambu; 3
refere-se a buti e castanha
Quanto s ocorrncias, particularmente na rea da Floresta com
Araucria, observa-se que em termos de valor dos produtos extrados,
predominam a erva-mate (34,96%), a madeira em toras (31,86%) e a
lenha (23,5%). Contudo, importante observar a produo de carvo
vegetal, pois embora menos importante em valor, as quase 34.000 tone-
ladas produzidas esto associadas extrao de um volume bem maior
de madeira ou lenha, segundo dados do Censo Agropecurio realizado
pelo IBGE em 1996.
A extrao de outros produtos menor tanto em valor quanto em
quantidade, mas pode signicar impactos ambientais e socioeconmi-
cos importantes. o caso do pinho, possivelmente colhido em quanti-
dades bastante superiores ao informado (394 ton). Embora a maior parte
da comercializao se concentre em um curto perodo, uma importante
fonte de renda para um nmero signicativo de famlias que habitam a
rea.
Uma das maiores ameaas a estas orestas, a extrao seletiva
de madeira que ocorre nos remanescentes mais desenvolvidos (estgio
mdio e avanado de sucesso), o que representa um impacto de alts-
sima magnitude. Estes remanescentes abrangem menor rea, possuem
maior diversidade estrutural e orstica e so fontes de propgulos para
a recomposio de outras reas. Este impacto ocorre praticamente em
toda a rea da Floresta com Araucria, desde extrao menos intensa
para consumo familiar ou mesmo por explorao intensiva que des-
caracteriza completamente as orestas, pois para cada rvore cortada,
dez outras so derrubadas no processo de extrao. Outras atividades
impactantes so a extrao da erva-mate (Ilex paraguariensis) e o pas-
toreio de animais no interior da oresta. No primeiro caso favorecida
a regenerao natural ou plantada no interior da oresta. Atualmente
preconiza-se uma abertura maior do dossel da oresta o que implica no
desbaste de dossel alm do que j realizado no sub-bosque. A soltura
de animais no interior das orestas uma interveno tradicional que,
com o passar do tempo, proporciona uma seleo de espcies do dossel,
principalmente de frutferas que ajudam na alimentao dos animais.
89
Em ambos os casos, ocorrem o impedimento da regenerao natural e
conseqente diminuio da biodiversidade.
6. Pesca e aqicultura
A maioria dos fragmentos orestais brasileiros apresenta inmeros
corpos de gua tais como riachos, rios, lagoas, reas alagadas e lagos.
Estes ambientes esto sujeitos a inmeras interferncias associadas s
atividades humanas tais como a supresso de mata ciliar, o assoreamen-
to, a poluio e a introduo de espcies exticas e alctones. Os corpos
de gua abrigam uma fauna aqutica ainda pouco conhecida e contam
com muitas espcies endmicas, necessitando estudos mais detalhados
destes organismos. Em relao aos peixes
22
, esses ecossistemas so
detentores de uma ictiofauna pouco conhecida no Brasil.
Muitos trabalhos tm reconhecido que riachos e rios so
ambientes heterogneos nos quais a calha principal, os remansos, os
reservatrios e a plancie de inundao com suas lagoas marginais,
devem ser considerados como fragmentos distintos formando um
mosaico de habitats. Cada fase do desenvolvimento dos peixes como
desova, incubao e crescimento, ocorre em determinados habitats
23
.
Para passar pelos diferentes estgios de vida, os peixes requerem a
presena desses diferentes habitats e a existncia de conexo entre
eles. O aparecimento de diferentes tipos de fragmentos aquticos pode
ser originado por alteraes geomorfolgicas do ambiente, pela ao
dos organismos dos ecossistemas aquticos e pela ao humana que,
na maioria das vezes, causa as maiores alteraes. Existem relatos da
ao de inmeros organismos, como os castores que constroem diques,
modicando a ciclagem de nutrientes, decomposio e caractersticas
da gua, inuenciando a comunidade de plantas e animais
24
. No caso
das modicaes causadas pelo homem, tem-se a barragem de rios
para a construo de reservatrios, a reticao dos leitos de rios e
a ocupao desordenada das suas margens. Todos levam perda da
vegetao ripria e afetam o fornecimento de recursos alimentares para
os peixes e outros organismos aquticos bem como de matria orgnica
para o sistema.
Troncos, galhos e folhas da mata ciliar caem nos cursos dgua e
constituem uma fonte direta de matria orgnica para os organismos
aquticos. Estas estruturas submersas fornecem tambm abrigo para
os peixes, protegendo-os de predadores, alm de servirem como locais
de desova. Nos trechos em que h perda de mata ciliar costuma haver
predomnio de gramneas. Os peixes continuam se relacionando com a
vegetao, mas com uma complexidade bem menor do que aquela que
ocorre quando se trata de mata ciliar preservada. Alguns autores
25
evi-
denciaram que a complexidade de habitats aumenta a complexidade da
comunidade de peixes e a estabilidade ambiental.
A ocupao desordenada do entorno dos fragmentos aquticos
leva perda do sombreamento exercido pela vegetao ciliar, que evita
mudanas bruscas de temperatura e inibe a predao dos peixes por
aves e outros animais. Na maioria dos casos, a integridade dos ecos-
90
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
sistemas aquticos ca comprometida como conseqncia das ativi-
dades de minerao, explorao agropecuria, assentamentos humanos
regulares ou no, emisso de poluentes etc.
A pesca de gua doce tradicional no Brasil e tem importncia na
economia nacional
26
, sendo que a pesca desportiva o segundo esporte
mais praticado no pas. Como resultado negativo da expanso da pesca
e da piscicultura tem-se um grande nmero de introdues de espcies
exticas e alctones bem como alteraes diversas e poluio dos cur-
sos d gua.
A piscicultura brasileira estabelece seus cultivos nas proximidades
dos rios
27
, dentro da rea de preservao permanente, facilitando a
propagao dos exemplares num possvel escape. Em se tratando de
fragmentos, a inuncia de espcies exticas e alctones de peixes
pode ser considerada uma ameaa manuteno da biodiversidade de
peixes, principalmente nos fragmentos localizados em reas onde as
introdues foram realizadas em massa como no sul, sudeste e nordeste
do Brasil.
Por apresentar melhores condies de conservao do que a matriz
do entorno, os fragmentos detm ambientes aquticos nos quais a fauna
de peixes mais diversicada e possui boas condies para o consumo.
Isso atrai pescadores, em especial os da prtica esportiva, aumentando
a presso da pesca nos fragmentos.
Na Amaznia, a pesca uma atividade que vem crescendo
continuamente, seja para consumo alimentar, prticas esportivas ou
ainda, para comercializao no mercado interno e(ou) externo. Em muitas
regies, principalmente ao longo dos rios, o peixe o responsvel pela
dieta bsica na alimentao dos povos tradicionais da regio, chegando
a representar 70% das protenas animais consumidas na Amaznia.
No Acre, a criao de peixes e de outros animais aquticos ainda
recente e pouco expressiva, mas na dcada de 90 houve um incremento
signicativo no nmero de criadores. Os peixes mais criados so o tam-
baqui, curimat, pacu, tilpia e pirarucu. As atividades de aqicultura
ainda exercem pouca inuncia no meio ambiente local, mas ainda
assim, a piscicultura deve ser acompanhada com cuidado, principal-
mente devido possibilidade de introduo de espcies de peixes e
outros organismos aquticos.
O sistema de cultivo praticado em audes construdos por meio de
barragens e em tanques tambm impacta os corpos dgua presentes
nos fragmentos. Segundo Filho (1997)
28
, os tanques de piscicultura
lanam nos corpos dgua euentes semelhantes ao esgoto domstico,
podendo comprometer a qualidade da gua dos riachos e rios que cor-
tam os fragmentos.
91
7. O impacto das obras de saneamento ambiental no
processo de fragmentao
Na dcada de 70, ao mesmo tempo em que estudos do primatlogo
Adelmar Coimbra-Filho mostravam a dramtica situao do mico-leo-
dourado (Leontopithecus rosalia) nos remanescentes de Mata Atlntica
do Estado do Rio de Janeiro, estudos do Departamento Nacional de
Obras e Saneamento - DNOS, resultavam em projetos de engenharia
para a expanso da rea agrcola na regio. Estes interesses conitantes
foram, aparentemente, equilibrados com a aprovao da construo da
Barragem de Juturnaba e a criao da Reserva Biolgica de Poo das
Antas.
A Reserva Biolgica de Poo das Antas foi criada em 1974, com o
objetivo de proteger a maior populao de micos-lees-dourados ainda
existente. Contando com uma rea de 5.500 hectares, ela engloba o
maior remanescente de Mata Atlntica de baixada costeira do Estado do
Rio de Janeiro. Ela apresentava um mosaico de habitats, formado por
reas alteradas pelo homem, com diversos tipos de vegetao aberta ou
em regenerao, assim como reas de mata madura.
No mesmo perodo, vrias intervenes relacionadas s obras de
drenagem foram realizadas na regio. O rio So Joo e vrios auentes
tiveram grande parte de seus cursos alterados por canalizaes, draga-
gens e reticaes. A barragem de Juturnaba foi construda com o
objetivo de reduzir o nvel das cheias, disponibilizar novas reas para a
agricultura e acumular gua para abastecimento pblico da Regio dos
Lagos Fluminenses. Por ser anterior Resoluo CONAMA 001/86, no
foi realizado nenhum estudo prvio de impacto ambiental dessas obras.
A reticao dos rios So Joo e Aldeia Velha e a construo da barra-
gem de Juturnaba, iniciada em 1978, causaram alteraes drsticas na
Reserva Biolgica de Poo das Antas alagando cerca de 200ha de ores-
tas montante da barragem e drenando toda a rea de baixada jusante
da mesma. O rio So Joo, que corria a cerca de 1600 metros das Ilhas
dos Barbados, dentro de Poo das Antas, passou a correr a, aproximada-
mente, 20 metros do fragmento mais prximo.
O rebaixamento do lenol fretico provocado pela reticao, alar-
gamento e aprofundamento do rio So Joo, secou os solos de turfa
encharcados da plancie de inundao, que se tornaram disponveis para
o cultivo de arroz, feijo e cana-de-acar. Antes da drenagem, estas
zonas alagadas exerciam um papel importante no equilbrio hdrico de
toda a regio, regularizando a vazo do rio pela acumulao do excesso
de gua na estao mida e escoamento ao longo da estao seca. Com
a drenagem da plancie, o solo de turfa emergiu e a oresta alagadia
desapareceu. Este processo foi acelerado pelos diversos e freqentes
incndios que se sucederam na rea. Quando seco, o solo de turfa
altamente inamvel e, portanto, bastante suscetvel aos incndios que
tm acontecido com freqncia na rea e que mantm a vegetao em
estgios iniciais da sucesso levando ao isolamento dos fragmentos.
A drenagem da plancie de inundao jusante da barragem de
Juturnaba, o desaparecimento da oresta alagadia e o conseqente
aumento da ocorrncia de incndios na Reserva Biolgica de Poo das
92
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
Antas, foram apontados como os mais graves entre os diversos impactos
gerados pelas intervenes de engenharia na bacia do rio So Joo
29
.
Hoje os fragmentos desta rea esto restritos a oito morrotes com
tamanho variando entre 1 a 15ha, conhecidos por Ilhas dos Barbados
devido presena freqente de bugios (Alouatta guariba). A rea
entre estes morrotes, que era alagada, se encontra em graus variados
de isolamento e perturbao. A matriz em que esto inseridos um
mosaico de vegetao aberta dominada por gramneas exticas como o
sap (Imperata brasiliensis), capim-gordura (Melinis minutiora), capim-
colonio (Panicum maximum) e samambaias (Pteridium aquilinum).
Nesta matriz existem alguns bosques de espcies arbreas pioneiras
como Trema micrantha e Cecropia pachisystachya, mas estas so
freqentemente destrudas pelos incndios.
Nestes pequenos fragmentos vivem diversas espcies de roedores
(os ratos-silvestres Akodon cursor e Oecomys concolor, por exemplo) e
marsupiais (o gamb, Didelphis aurita; as cucas, Caluromys philander,
Gracilinanus microtarsus e Philander frenata, entre outras), alm de
mamferos maiores que utilizam toda a paisagem. Algumas destas esp-
cies tm hbitos arborcolas e a destruio da oresta alagadia criou
uma barreira considervel entre os morrotes. Os levantamentos na rea
indicam o desaparecimento de vrias espcies em alguns dos fragmen-
tos e populaes muito pequenas em outros.
Uma avaliao recente das obras de drenagem e da barragem de
Juturnaba
29
mostrou que estas eram dispensveis para a melhoria do
abastecimento de gua da Regio dos Lagos, pois investimentos em
redes de distribuio e no tratamento da gua seriam mais importantes
do que a ampliao da capacidade de armazenamento. As alteraes
ocorridas no sistema aqutico acarretaram maiores custos no tratamen-
to da gua para consumo. Hoje o reservatrio encontra-se parcialmente
assoreado e no atende aos mltiplos usos projetados. A avaliao
concluiu que a construo do reservatrio foi negativa tanto no aspecto
ambiental quanto econmico.
8. Introduo de espcies invasoras pelo homem:
uma preocupao permanente
A introduo de espcies exticas de animais e plantas seja de
forma deliberada ou em decorrncia de alguma atividade de explo-
rao econmica do ambiente, legal ou clandestina, merece ateno
permanente. Animais domsticos e silvestres, plantas para cultivo e
ornamentao, agentes biolgicos para controle de pragas, comensais
e parasitas indesejveis, so introduzidos em reas onde no ocorriam
naturalmente alterando o habitat e causando a extino de espcies nati-
vas. Algumas das espcies da ora exticas trazidas para o Brasil so
o bambu, diversos tipos de capins e rvores frutferas como coqueiro,
mangueira, jaqueira e, da fauna extica vale mencionar o pardal, a tilpia
e o escargot africano. Os principais impactos vericados da introduo
de espcies so a competio por alimento e espao entre espcies nati-
93
vas e introduzidas; predao de espcies nativas; introduo de patge-
nos e parasitas alm da alterao de habitats.
Algumas destas espcies exticas esto bem estabelecidas no Bra-
sil e tm formado novos habitats e so utilizadas por espcies nativas e
pelo homem. O bambu tem sido utilizado nas fazendas como cerca-viva e
serve como habitat para o rato-do-bambu (Cannabateomys amblyonix).
As jaqueiras e as mangueiras servem como recurso alimentar direto (fru-
tos) e indireto (albergando eptas) e como abrigo para invertebrados.
O trco ilegal de animais silvestres uma prtica freqente que
tem, entre outras conseqncias, originado a introduo de espcies
exticas. Um exemplo conhecido so os sagis do nordeste, conhecidos
como mico estrela (Callithrix jacchus e Callithrix penicillata), que foram
levados para o Estado do Rio de Janeiro como animais de estimao e
que, posteriormente, invadiram as orestas locais e tornaram-se poten-
ciais competidores e portadores de doenas de origem antrpica (her-
pes, inuenza), ou de elementos patognicos associados aos animais
domsticos (parvovrus) capazes de devastar populaes de primatas e
outros mamferos nativos da regio.
Os animais domsticos esto entre os que mais invadem os frag-
mentos, em decorrncia da existncia de habitaes e de atividades
econmicas no seu entorno. Faltam estudos sobre o seu impacto na
biodiversidade dos fragmentos e para subsidiar o estabelecimento de
estratgias que permitam controlar e minimizar essas invases.
Em relao aos organismos aquticos, muitos trabalhos tm docu-
mentado os efeitos da introduo de espcies de peixes em diversas
bacias hidrogrcas mundiais. As introdues no Brasil so antigas,
com destaque para a da tilpia ocorrida em 1953
30
. Na maioria dos
casos os efeitos so negativos
31
conforme se vericou analisando 321
trabalhos, dos quais 77% mostraram o declnio das espcies nativas.
Dentre as justicativas para a introduo de espcies exticas esto o
aumento dos estoques pesqueiros, o fornecimento de novas espcies
para a pesca esportiva bem como o controle de macrtas, mosquitos,
algas e moluscos.
Inmeras situaes tm permitido introdues acidentais de orga-
nismos aquticos, no s de peixes como tambm moluscos e crust-
ceos. Inmeros parasitas e patgenos foram introduzidos com os peixes,
contaminando os tanques de cultivo e o prprio ambiente aqutico,
sendo considerados uma ameaa ictiofauna nativa. Citam-se ainda
moluscos introduzidos no sistema Tiet que proliferam pelos inmeros
reservatrios e ainda so desconhecidas as suas possveis ameaas
integridade dos ecossistemas aquticos.
Para ilustrar essa problemtica, h o caso da Floresta Nacional de
Ipanema (SP) que sofre inmeras presses tais como desmatamento,
lanamento de euentes e represamentos. No seu entorno existem
inmeros tanques e reas de lazer do tipo pesque-pague com diver-
sas espcies exticas como a carpa (Cyprinus carpio), alm de esp-
cies alctones como o pacu (Piaractus mesopotamicus) e o matrinx
(Brycon sp)
32
. Os riachos da regio j possuem inmeros locais onde
predominam a tilpia, introduo que a princpio, no trouxe prejuzos
para a fauna, mas no surtiu o efeito desejado, pois as tilpias so de
pequeno porte, no sendo interessantes para a pesca nem para o con-
sumo humano.
94
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
9. Consideraes nais
O uso dos recursos naturais tem afetado de diferentes formas a
biodiversidade, especialmente por meio da fragmentao de habitats
naturais. Diversas atividades antrpicas, incentivadas ou no, pelas
polticas pblicas, foram estudadas pelos projetos apoiados pelo Probio
em diferentes regies do pas.
As aes antrpicas foram levantadas a partir dos processos histri-
cos e recentes que inuenciaram na congurao dos padres de ocupa-
o territorial, geradores da atual situao dos fragmentos. As maiores
causas antrpicas de fragmentao identicadas pelos projetos foram: a
extrao de madeira; a supresso da oresta por meio de queimadas; a
substituio da cobertura orestal nativa por reorestamento com esp-
cies exticas; a expanso das atividades agropecurias que substituem
os remanescentes por pastagens e reas de cultivo; prticas agrcolas
cada vez mais mecanizadas; a ocupao de terras por movimentos
sociais que tem diculdades em manter a cobertura orestal; o padro
da estrutura fundiria existente que diculta a proteo das orestas e
propicia a aes que geram perturbaes nas reas dos remanescentes
orestais; a poltica de Reforma Agrria do Ministrio do Desenvolvi-
mento Agrrio/INCRA; o crescimento urbano desordenado; presso de
turismo; a caa e a captura de animais silvestres e as obras de sanea-
mento ambiental que alteram cursos de rios, rebaixam o lenol fretico
e o equilbrio hdrico, modicando a paisagem e criando fragmentos no
meio aqutico.
10. Recomendaes
a. O incentivo, atravs de nanciamento agrcola, foi identicado
como um propiciador do aumento da fragmentao e do desmatamento
em vrios locais, evidenciando a necessidade de se considerar
instrumentos que preservem os fragmentos.
b. A instabilidade vivida em qualquer atividade agropecuria gera
situaes de ameaa aos fragmentos. Foram vistos casos, como a crise
da lavoura cacaueira, que tem gerado aumento na atividade extrativa
nos remanescentes para obteno de renda imediata e emergencial.
Esse recurso tem sido utilizado tanto pelos donos das fazendas que
contm os remanescentes como pelos trabalhadores rurais que moram
no entorno. necessrio criar mecanismos que incluam a preservao
ambiental nos momentos de crise na produo agrcola.
c. Deve-se observar quais as implicaes ambientais quando so
promovidas mudanas na poltica energtica do pas. Foi visto que pode
haver uma recuperao de fragmentos como no caso em que houve
incentivo para que as padarias no Estado do Rio de Janeiro passassem a
utilizar fornos eltricos em substituio aos de lenha ao longo dos anos
90. J a queda de disponibilidade de energia eltrica e(ou) aumentos nos
95
preos do gs e da energia eltrica tendem a promover o aumento da
extrao madeireira.
d. Os mecanismos de regulao elaborados com o intuito de
preservar o ambiente devem ser permanentemente acompanhados para
vericar se esto atingindo seu intento. Uma das situaes de fragilidade
observadas foi a da classicao, pelo IBAMA, dos remanescentes
orestais da regio de Una-Bahia, como reas de mata secundria,
aptas silvicultura sustentvel. Essa classicao tem gerado
permisses de corte e estas, mesmo quando restritas, tm servido para
justicar a explorao madeireira no autorizada bem como dicultado
a scalizao, facilitando o transporte de madeira de outras reas no
autorizadas.
e. Os diferentes ciclos econmicos (pau-brasil, cana-de-acar,
caf, madeira, borracha, gado, erva-mate, soja, etc.) tm condicionado
as mais diversicadas formas de explorao dos recursos naturais
nos remanescentes orestais e no seu entorno. Esses ciclos orientam
a ocupao do solo e o desenvolvimento econmico baseados
no extrativismo, principalmente at o incio da dcada de 70, e na
modernizao da agricultura, mais recentemente. Essas formas de
explorao so a maior causa de perda de reas com cobertura
orestal gerando processos de fragmentao da paisagem. As
anlises das polticas pblicas devem incorporar uma avaliao sobre
as conseqncias desse processo, especialmente quando se trata
de impulsionar o desenvolvimento econmico e o assentamento de
populaes humanas. Essa anlise no deve se restringir ao momento
em que se implementa uma nova poltica, pois algumas conseqncias
s sero percebidas no mdio e longo prazo.
f. O processo de ocupao do territrio acompanha o movimento
gerado pela economia. Nas diferentes regies do Pas, com raras
excees, tm-se observado o avano da fronteira agrcola sobre as reas
de remanescentes de ecossistemas orestais abertos, a concentrao da
terra em poucas propriedades e a intensicao dos processos agrcolas.
Como decorrncia h o xodo rural, a eroso do solo e a perda da
biodiversidade. Estes impactos negativos podem ser minimizados pela
elaborao e implementao do Zoneamento Ecolgico Econmico, em
suas diferentes escalas de abrangncia.
g. H necessidade de estudos orientados para uma prtica de
manejo do entorno dos fragmentos orestais, que permitam a adequao
das atividades produtivas nas exploraes agrcolas, quer possibilitando
a interligao entre fragmentos, quer estabelecendo aes que os
protejam de perturbaes, minimizando assim os impactos negativos.
Uma vez que os remanescentes encontram-se, na sua maioria, em
reas com topograa acidentada ou com grandes restries fsicas e
qumicas ao uso agrcola (fato que, em grande parte dos casos, explica
a ocorrncia de fragmentos orestais), o desenvolvimento de atividades
produtivas deveria estar fortemente relacionado s formas de produo
diversicadas, ambientalmente equilibradas, abrangendo o setor
de extrativismo (principalmente na Amaznia), agricultura orgnica
temporria e permanente e pecuria de pequenos animais.
h. necessrio orientar a implementao de atividades produ-
tivas, por intermdio de polticas de desenvolvimento sustentvel,
compatibilizando a preservao e conservao do meio ambiente com a
96
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
gerao de emprego e renda para as populaes residentes no entorno
dos fragmentos em todo o pas. So necessrios estudos locais/regionais
que norteiem as orientaes e as avaliem para se garantir que a presso
sobre os recursos naturais possa ser reduzida.
i. Os rgos de controle ambiental devem desenvolver e im-
plementar um sistema eciente de ordenamento, monitoramento e
controle de produtos madeireiros e no-madeireiros, visando orientar
o desenvolvimento sustentvel do setor orestal, principalmente na
Regio Amaznica. Toda atividade madeireira deve ser efetuada com
base na adoo do plano de manejo orestal, e como tal deve ser
scalizada.
j. Deve-se buscar alternativas de sistemas de produo de culturas
anuais que evitem a agricultura itinerante, com base nos modelos
preconizados pela Embrapa e outras instituies. Prioridade deve ser
dada implantao de culturas perenes, prioritariamente em Sistemas
Agroorestais.
k. Deve-se buscar a verticalizao da pecuria bovina, incentivando
a adoo de processos de transformao/industrializao dos produtos,
alm da recomendao de novas tecnologias na rea de alimentao,
reproduo e manejo, visando aumento na produtividade do rebanho.
Deve-se tambm estabelecer polticas que restrinjam a expanso de
pastagens na Amaznia.
l. H um imenso potencial para a expanso das atividades de
aqicultura em regime de criao racional nas regies litorneas, em
vrios fragmentos uviais e na Amaznia. Deve-se tomar todos os
cuidados possveis para evitar a introduo de espcies exticas de
peixes, sobre as quais h poucas informaes cientcas e tecnolgicas.
Devem ser desenvolvidos estudos e trabalhos em conjunto com os
piscicultores, principalmente se os tanques estiverem situados a
montante de fragmentos, pois a m qualidade da gua poder contribuir
para a no preservao da biota aqutica nos fragmentos e nos cursos
de gua. Os piscicultores devem receber orientao adequada para a
construo e a manuteno dos tanques bem como para o tratamento
dos euentes gerados pelos tanques.
m. Deve ser facilitada a disseminao dos conhecimentos sobre a
agricultura, a criao de animais e a preservao de ecossistemas, com
isso, os agricultores podem adotar tecnologias mais condizentes com o
desenvolvimento sustentvel.
n. Em boa parte do pas a grande maioria dos estabelecimentos
apresenta reas menores que 50ha. Neles ocorre a maior parte da
produo agrcola brasileira. Isso no signica necessariamente que os
proprietrios desses estabelecimentos sejam os maiores responsveis
pelos impactos nos fragmentos. O baixo nvel de intensicao dos
sistemas de produo/extrativismo tpico da agricultura predominante,
a familiar, e nas suas diversas modalidades de integrao ao mercado.
Dado que, para essa categoria de produtores, os rendimentos do trabalho
agrcola so decrescentes, h sempre o risco de que os agricultores
busquem compensao de renda na superexplorao dos recursos
naturais, pela intensicao do uso do solo e do extrativismo orestal.
So necessrios trabalhos permanentes junto a esses produtores
propondo alternativas e acesso a recursos que evitem esses riscos.
o. Estudos realizados em fragmentos da Mata Atlntica, no
Estado do Rio de Janeiro, indicam que h uma crescente tenso entre
97
a ampliao de reas para recreao e lazer e o aumento de atividades
agropecurias. As utuaes na poltica agropecuria podem estimular
uma ou outra opo. Alm disso, a pequena experincia de ocupao
e explorao ambientalmente controlada de reas de preservao,
cuja posse distribuda entre diversos proprietrios, est sendo uma
facilitadora da atual perda de reas de oresta na regio.
p. As potencialidades apontadas para o ecoturismo tendem a
direcionar polticas que redenam os usos dos recursos existentes, meios
de valorizao do patrimnio natural e cultural, e oportunidades para
atrair efetivamente investimentos produtivos. A insero de comunidades
locais no processo de planejamento e tomadas de deciso primordial
para incrementar o ecoturismo nas regies de ocorrncia de fragmentos,
para que se possa denir atrativos tursticos diferenciados em termos de
patrimnio histrico, recursos naturais e valores culturais.
q. Entrevistas realizadas com agricultores, para avaliar impactos
produzidos pela agricultura em reas vizinhas aos fragmentos de mata
nativa, do conta de que fogo um dos fatores de maior importncia
pela sua magnitude. Dados da Zona da Mata Mineira indicam que mais
de 70% das propriedades rurais j sofreram danos por fogo em seus
fragmentos, alm da extrao de madeira e lenha seca das matas, uso
indiscriminado de agrotxicos e problemas oriundos da pecuria. Isso
torna a Educao Ambiental prioritria nas discusses.
r. A abundncia relativa da maioria dos ungulados e outras espcies
caadas nos fragmentos de orestas da Mata Atlntica, em So Paulo, com
presso de caa contnua e intensa , consideravelmente, bem menor do
que nos fragmentos mais protegidos. Portanto, os resultados sugerem
que, embora existam inmeros efeitos da fragmentao que podem
afetar populaes isoladas em fragmentos orestais, no curto prazo os
impactos da caa parecem sobrepor esses efeitos, e ser a principal varivel
responsvel pela diminuio e a extino local de mamferos em fragmentos
orestais. Se a biomassa de mamferos fundamental para a ciclagem de
nutrientes, e para a manuteno dos habitas e de sua integridade ecolgica,
ento, a eliminao destes grupos de animais poder acarretar um impacto
severo na estrutura da comunidade e na biodiversidade destes ltimos
remanescentes orestais da Mata Atlntica Brasileira.
Referncias bibliogrcas
1. DIAS, B. F. S., 2001. Demandas governamentais para o monitoramento
da Diversidade Biolgica Brasileira. In:. Conservao da Biodiversidade
em ecossistemas tropicais: Avanos conceituais e reviso de novas
metodologias de avaliao e monitoramento. Organizadores: Irene
Garay e Braulio Dias. Petrpolis: Editora Vozes.
2. DEAN, W., 1996. A ferro e fogo: a histria e a devastao da Mata
Atlntica brasileira. Companhia das Letras, So Paulo, 484p.
3. CORSON, W.H., 1993 Manual Global de Ecologia: o que voc precisa
fazer a respeito da crise no meio ambiente. [traduo Alexandre Gomes
Camaru]- Ed. Augustus, So Paulo, 413p.
4. IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica), 2002. Censo
Demogrco 2000. Rio de Janeiro: IBGE.
98
C
a
u
s
a
s
a
n
t
r
p
i
c
a
s
<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/acervo/acervo1.asp>
<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp>
5. MENDONA, J. R.; de CARVALHO, A. M.; MATTOS SILVA, L. A. &
THOMAS, W. W., 1994. 45 Anos de Desmatamento no Sul da Bahia 45
Years of Land clearing in Southern Bahia Calendar (four maps shopwing
extent of intact forest in Southern Bahia in 1945, 1960, 1974 and 1990).
Projeto Mata Atlntica do Nordeste, CEPEC, Ilhus, Bahia, Brasil.
6. Probio-PR. 2001. Conservao do Bioma Floresta com Araucria
Relatrio nal: Diagnstico dos remanescentes orestais. Curitiba:
FUPEF, v1.121p.
7. MARTINELLO, P., 1985. A batalha da borracha na segunda guerra
mundial e suas conseqncias para o vale amaznico. UFAC. Cadernos
da UFAC, 1. Srie C Estudos e Pesquisa. Rio Branco.
8. RANCI, C. M. D, 1992; Razes do Acre: 1970-1912. 2 Edio, Rio
Branco, AC.
9. ACRE, Governo do Estado do Acre, 2000. Programa Estadual de
Zoneamento Ecolgico-Econmico do Estado do Acre. Zoneamento
Ecolgico-Econmico: aspectos socioeconmicos e ocupao territorial
- documento nal. Rio Branco: SECTMA, v. II.
10. IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica ), 2002. Anurio
Estatstico 2002. Rio de Janeiro: IBGE.
11. IBGE/IPEA, 1990 Diagnstico Geoambiental e Socioeconmico: rea
de inuncia da BR-364, Trecho Porto Velho/Rio Branco. Projeto de
Proteo do Meio Ambiente e das Comunidades Indgenas I PMACI I.
Rio de Janeiro: IBGE. 132 p.
12. FRANKE, I.L., 1997 Caracterizao e anlise econmico-produtiva
de quatro Reservas Extrativistas no Estado do Acre: Cachoeira, Porto
Dias, So Luis do Remanso e Santa Quitria. Rio Branco, AC. UFAC.
Monograa de concluso de curso de Bacharelado em Economia, 190p.
13. CNS-Conselho Nacional dos Seringueiros, 1992. Reserva Extrativista.
Rio Branco-AC: CNS. Srie Unidade de Treinamento n 02.
14. IBGE/IPEA, 1994. Diagnstico Geoambiental e Socioeconmico: rea
de inuncia da BR-364, Trecho Rio Branco/Cruzeiro do Sul. Projeto de
Proteo do Meio Ambiente e das Comunidades Indgenas II PMACI II.
Rio de Janeiro: IBGE. 144 p.
15. IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica), 1996. Censo
Agropecurio 1995/96. Rio de Janeiro: IBGE.
16. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, 2002. Monitora-
mento da oresta amaznica brasileira por satlite, 1999-2000.
<http://www.inpe.br/Informacoes_Eventos/amz1999_2000/Prodes/
index.htm>, consultado em 29 mar. 2002.
17. SCHULTZ, L.A., 1983. Mtodos de Conservao do Solo. Porto
Alegre, Sagra, 74 p.
8. RIBON, R., 1998. Fatores que inuenciam a distribuio da avifauna
em fragmentos de Mata Atlntica nas montanhas de Minas Gerais.
Dissertao de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo
Horizonte. 128 p.
19. SEAB/DERAL., 1998. Acompanhamento da situao agropecuria no
Paran. Curitiba: SEAB. 78p.
20. IBGE(Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica), 2002. Produo
Agrcola Municipal 2002. Rio de Janeiro: IBGE
21. IBGE( Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica), 2002. Produo
Extrativa Vegetal, 2002. Rio de Janeiro: IBGE.
99
22. CASTRO, RMC & MENEZES, N. A., 1998. Estudo diagnstico da
diversidade de peixes do Estado de So Paulo. p 1-13, In: Biodiversidade
do Estado de So Paulo, Brasil: Sntese do conhecimento ao nal do
sculo XX, vol. 6 Vertebrados. So Paulo, Winnergraph-FAPESP, Castro,
R.M.C. Ed., Joly, C.A.; Bicudo, C. E. M. Orgs., 71p.
23. SCHLOSSER, I.J.,1995. Critical landscape attributes that inuence
sh population dynamics in headwater streams. Hydrobiologia, V.303,
p.71-81.
24. JONES, C. G.; LAWTON, J. H. & SHACHAK, M., 1994. Organisms as
ecosystem engineers. Oikos, V. 69, p.373-386.
25. GORMAN, O. T & KARR, J.R., 1978. Habitat structure and stream sh
communities. Ecology, 59: 507-515.
26. PETRERE JR., M. 1995. A pesca de gua doce no Brasil. Cincia Hoje,
110 (19): 28-33.
27. ELER, M.N., 2000, Avaliao dos efeitos do uxo da gua e da den-
sidade de estocagem na qualidade da gua em viveiros de piscicultura.
Tese de doutorado. Escola de Engenharia de So Carlos/USP, 294 p.
28. FILHO, E. Z., 1997. O desenvolvimento da piscicultura brasileira sem
a deteriorao da qualidade de gua. Rev. Brasil. Biol., 57(1): 3-9.
29. CUNHA, S. B. da, 1995, Impactos das obras de engenharia sobre o
ambiente biofsico da bacia do rio So Joo (Rio de Janeiro Brasil).
Editora do Instituto de Geocincias da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 415 p.
30. NOMURA, H., 1984. Dicionrio de Peixes do Brasil. Editerra,
Braslia. 482p.
31. ROSS, S.T., 1991. Mechanisms structuring stream sh assemblages:
are there lessons from introduced species? Environmental Biology of
Fishes, v.30, p.359-368.
32. SMITH, W.S. e MARCIANO, F.T., 2000. A ictiofauna da Floresta
Nacional de Ipanema Iper, So Paulo, como base para aes de
manejo, conservao e educao ambiental. In II Congresso Brasileiro
de Unidades de Conservao. Campo Grande, MS, p.409-417.
Você também pode gostar
- Salmos & HinosDocumento644 páginasSalmos & Hinosgustavbrook97% (39)
- IMPACTOS AMBIENTAIS OCASIONADOS POR ATIVIDADES ANTRÓPICAS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP: RAQUEL APARECIDA MENDES LIMANo EverandIMPACTOS AMBIENTAIS OCASIONADOS POR ATIVIDADES ANTRÓPICAS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP: RAQUEL APARECIDA MENDES LIMAAinda não há avaliações
- Em Busca de Uma Cultura Epistemológica - Luiz Felipe PondeDocumento35 páginasEm Busca de Uma Cultura Epistemológica - Luiz Felipe Pondegustavbrook100% (3)
- Entre Têmis e Leviatã PDFDocumento190 páginasEntre Têmis e Leviatã PDFgustavbrookAinda não há avaliações
- Livro - Salomao - Ginsburg - Um - Judeu - Errante - No - Brasil PDFDocumento132 páginasLivro - Salomao - Ginsburg - Um - Judeu - Errante - No - Brasil PDFgustavbrook50% (2)
- Capacitação em Gestão Participativa de Unidades de Conservação Na Mata Atlântica No Nordeste - AMANE - Associação para Proteção Da Mata Atlântica Do Nordeste, MMA - Ministério Do Meio AmbienteDocumento111 páginasCapacitação em Gestão Participativa de Unidades de Conservação Na Mata Atlântica No Nordeste - AMANE - Associação para Proteção Da Mata Atlântica Do Nordeste, MMA - Ministério Do Meio Ambientedick_henriqueAinda não há avaliações
- 2002 - MMA - Biodiversidade Brasileira - Avaliação de Áreas Prioritárias para ConservaçãoDocumento340 páginas2002 - MMA - Biodiversidade Brasileira - Avaliação de Áreas Prioritárias para ConservaçãoAna Clarissa RodriguesAinda não há avaliações
- Biodiversidade Brasileira MMADocumento340 páginasBiodiversidade Brasileira MMAJoe WellsAinda não há avaliações
- Biodivbr PDFDocumento404 páginasBiodivbr PDFjuliana de sousa silvaAinda não há avaliações
- Fernandes e Souza 2018 - Introduzindo Conceitos Sobre Bioindicadores Aquáticos...Documento13 páginasFernandes e Souza 2018 - Introduzindo Conceitos Sobre Bioindicadores Aquáticos...Ubirajara FernandesAinda não há avaliações
- Anais Do V Simpósio de Restauração EcológicaDocumento404 páginasAnais Do V Simpósio de Restauração EcológicaSunny Wirõ PetizaAinda não há avaliações
- Vocabulário Basico para Educação Ambiental - Luiz Antonio C. Norder e OutroDocumento89 páginasVocabulário Basico para Educação Ambiental - Luiz Antonio C. Norder e OutroricardomezendeAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento13 páginas1 PBAndressa FernandaAinda não há avaliações
- 2777 10741 2 PBDocumento12 páginas2777 10741 2 PBMatheus Gonzalez FernandesAinda não há avaliações
- Estrategia e Plano de Acao Nacionais para A Biodiversidade EPANBDocumento264 páginasEstrategia e Plano de Acao Nacionais para A Biodiversidade EPANBMiguel Sant Anna FilhoAinda não há avaliações
- Monitoramento in Situ Da Biodiversidade Versao Final 05.12.2013Documento36 páginasMonitoramento in Situ Da Biodiversidade Versao Final 05.12.2013Tatiana LemosAinda não há avaliações
- A&D BiodiversidadeDocumento139 páginasA&D BiodiversidadeSEI BAHIA - Biblioteca Rômulo Almeida. Você também encontra as publicações da SEI em:Ainda não há avaliações
- Biodiversidade Do Cerrado e PantanalDocumento398 páginasBiodiversidade Do Cerrado e PantanalmsantoslopesAinda não há avaliações
- Porro11PolPúblDesAgroflorestalBra ICRAFDocumento82 páginasPorro11PolPúblDesAgroflorestalBra ICRAFTaivan MüllerAinda não há avaliações
- Sequência DidáticaDocumento8 páginasSequência DidáticaTaina MartinsAinda não há avaliações
- Biodiversidade - Conservação e ImportânciaDocumento11 páginasBiodiversidade - Conservação e ImportânciaDeyse AlvesAinda não há avaliações
- Biodiversidade Do Planeta: 2 Série Aula 5 - 3º BimestreDocumento17 páginasBiodiversidade Do Planeta: 2 Série Aula 5 - 3º BimestreJose Vitor Ferreira OlicinoAinda não há avaliações
- Biodiversidade Do Planeta: 2 Série Aula 5 - 3º BimestreDocumento17 páginasBiodiversidade Do Planeta: 2 Série Aula 5 - 3º BimestreJose Vitor Ferreira OlicinoAinda não há avaliações
- Documento Sem TítuloDocumento5 páginasDocumento Sem Títulogiovanna silvaAinda não há avaliações
- Ações de Desenvolvimento Sustentável Na Itaipu BinacionalDocumento4 páginasAções de Desenvolvimento Sustentável Na Itaipu BinacionalBruno Souza GarciaAinda não há avaliações
- Políticas Ambientais No Brasil: BiologiaDocumento20 páginasPolíticas Ambientais No Brasil: BiologiaKauan Magno da SilvaAinda não há avaliações
- MIC Mina 2023Documento12 páginasMIC Mina 2023Isidro Candido Da CostaAinda não há avaliações
- 551-Texto Do Artigo-2506-1-10-20190802Documento14 páginas551-Texto Do Artigo-2506-1-10-20190802Gabriel FernandesAinda não há avaliações
- B.Cons. 1Documento8 páginasB.Cons. 1Antonio Mangame ManuelAinda não há avaliações
- Sequência DidáticaDocumento8 páginasSequência DidáticaTaina MartinsAinda não há avaliações
- Texto Base - Seminário 3 M4 - Meio Ambiente - Biodiversidade, Sustentabilidade e Intervenção HumanaDocumento3 páginasTexto Base - Seminário 3 M4 - Meio Ambiente - Biodiversidade, Sustentabilidade e Intervenção Humanajuli.nevesfisioAinda não há avaliações
- Áreas Prioritárias para Conservação Da Biodiversidade Na Bacia Hidrográfica Do Rio TramandaíDocumento141 páginasÁreas Prioritárias para Conservação Da Biodiversidade Na Bacia Hidrográfica Do Rio TramandaíAndriê MarcheseAinda não há avaliações
- Biomas e Agricultura FAPEMIG Livro 306p PDFDocumento306 páginasBiomas e Agricultura FAPEMIG Livro 306p PDFpereira de casroAinda não há avaliações
- Cartilha Peaaf W IDocumento248 páginasCartilha Peaaf W IEmmanuel AlmadaAinda não há avaliações
- Disertação Mata AtlanticaDocumento48 páginasDisertação Mata AtlanticaMiluska Blas LeonAinda não há avaliações
- LIVRO Azul MMA - 2013 - Politicas Agua e Educacao AmbientalDocumento292 páginasLIVRO Azul MMA - 2013 - Politicas Agua e Educacao AmbientalalechacAinda não há avaliações
- Aula 7Documento23 páginasAula 7Francisco BarrosAinda não há avaliações
- Política de Águas e Educação AmbientalDocumento188 páginasPolítica de Águas e Educação AmbientalJean FilippeAinda não há avaliações
- Roteiro para Criação de UC MunicipalDocumento72 páginasRoteiro para Criação de UC MunicipalJorgeLuisVerasSantosAinda não há avaliações
- 2020 - Meio Ambiente, Sustentabilidade e Tecnologia - Capitulo 7Documento134 páginas2020 - Meio Ambiente, Sustentabilidade e Tecnologia - Capitulo 7Ana Paula MottaAinda não há avaliações
- Discussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: – Volume 3No EverandDiscussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: – Volume 3Ainda não há avaliações
- Discussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: Volume 4No EverandDiscussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: Volume 4Ainda não há avaliações
- 29 Rev 74057Documento22 páginas29 Rev 74057Adeliton DelkAinda não há avaliações
- Genética - Perda Da Biodiversidade - de 2014Documento13 páginasGenética - Perda Da Biodiversidade - de 2014Viih FrasãoAinda não há avaliações
- Educação Ambiental e CidadaniaDocumento4 páginasEducação Ambiental e Cidadaniamatheusmoreira180Ainda não há avaliações
- Reflexões sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural: Volume IINo EverandReflexões sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural: Volume IIAinda não há avaliações
- 3º Relatorio Nacional para A Convenção Diversidade Biologica - Monistério Do Meio Ambiente - MMA, 2006Documento368 páginas3º Relatorio Nacional para A Convenção Diversidade Biologica - Monistério Do Meio Ambiente - MMA, 2006dick_henriqueAinda não há avaliações
- Indicadores Ecológicos EMBRAPADocumento62 páginasIndicadores Ecológicos EMBRAPAIago AraújoAinda não há avaliações
- Implementando Reflorestamentoscom Alta Diversidadena Zonada Mata Nordestina Guia PraticoDocumento86 páginasImplementando Reflorestamentoscom Alta Diversidadena Zonada Mata Nordestina Guia PraticoAna Raquel MenesesAinda não há avaliações
- LIVRO Reservas Da Biosfera Brasileira PDFDocumento14 páginasLIVRO Reservas Da Biosfera Brasileira PDFAlvaro MawozeAinda não há avaliações
- Evolução Da Legislação APPsDocumento41 páginasEvolução Da Legislação APPsValdinei KoppeAinda não há avaliações
- Anexo 7 Modelo de Projeto de EstágioDocumento13 páginasAnexo 7 Modelo de Projeto de EstágioLucas Carvalho100% (1)
- Sustentabilidade Territorial:No EverandSustentabilidade Territorial:Ainda não há avaliações
- Etnobotânica no cerrado: Um estudo no assentamento santa rita, Jataí-GONo EverandEtnobotânica no cerrado: Um estudo no assentamento santa rita, Jataí-GOAinda não há avaliações
- Conservação da Biodiversidade e Pobreza no Parque Estadual da Serra do Conduru, Bahia, BrasilNo EverandConservação da Biodiversidade e Pobreza no Parque Estadual da Serra do Conduru, Bahia, BrasilAinda não há avaliações
- Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável: perspectivas interdisciplinares: Volume 6No EverandCaminhos para o Desenvolvimento Sustentável: perspectivas interdisciplinares: Volume 6Ainda não há avaliações
- A Desconstrução do Licenciamento Ambiental: Autolicenciamento e AutomonitoramentoNo EverandA Desconstrução do Licenciamento Ambiental: Autolicenciamento e AutomonitoramentoAinda não há avaliações
- Gestão Ambiental: Uma Visão MultidisciplinarNo EverandGestão Ambiental: Uma Visão MultidisciplinarAinda não há avaliações
- Gestão ambiental pública local: um estudo no Município de Goiatuba (GO)No EverandGestão ambiental pública local: um estudo no Município de Goiatuba (GO)Ainda não há avaliações
- Coletânea Interdisciplinar em Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - vol. 1: Estudos Ambientais, Território e Movimentos SociaisNo EverandColetânea Interdisciplinar em Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - vol. 1: Estudos Ambientais, Território e Movimentos SociaisAinda não há avaliações
- Planejamento sistemático para conservação da flora campestre ameaçada de extinção no bioma PampaNo EverandPlanejamento sistemático para conservação da flora campestre ameaçada de extinção no bioma PampaAinda não há avaliações
- Arapiuns+5: O Ordenamento Territorial IncompletoNo EverandArapiuns+5: O Ordenamento Territorial IncompletoAinda não há avaliações
- Agendas Locais e Globais da Sustentabilidade: Ciência, Tecnologia, Gestão e SociedadeNo EverandAgendas Locais e Globais da Sustentabilidade: Ciência, Tecnologia, Gestão e SociedadeAinda não há avaliações
- Controvérsia Religiosa - Synesio LyraDocumento58 páginasControvérsia Religiosa - Synesio Lyragustavbrook100% (1)
- UIECB - Fórum Nacional para Definição Doutrinaria (1994)Documento49 páginasUIECB - Fórum Nacional para Definição Doutrinaria (1994)gustavbrookAinda não há avaliações
- Seitas Protestantes em Pernambuco - Vicente FerrerDocumento81 páginasSeitas Protestantes em Pernambuco - Vicente Ferrergustavbrook100% (2)
- Atitudes Frente À Natureza - John PassmoreDocumento12 páginasAtitudes Frente À Natureza - John PassmoregustavbrookAinda não há avaliações
- Salmos e Hinos - Somente TextoDocumento375 páginasSalmos e Hinos - Somente Textogustavbrook100% (1)
- O Congregacionalismo No Brasil - Salustiano Pereira CésarDocumento155 páginasO Congregacionalismo No Brasil - Salustiano Pereira Césargustavbrook100% (5)
- Congregacionalismo Brasileiro - Manoel Da Silveira Porto FilhoDocumento88 páginasCongregacionalismo Brasileiro - Manoel Da Silveira Porto Filhogustavbrook100% (4)
- Teologia Da Missão - José ComblinDocumento74 páginasTeologia Da Missão - José Comblingustavbrook75% (4)
- Congregacionalismo - Eclesiologia, Doutrina e HistóriaDocumento52 páginasCongregacionalismo - Eclesiologia, Doutrina e Históriagustavbrook100% (2)
- História Do Municipio de Moreno-PEDocumento13 páginasHistória Do Municipio de Moreno-PEgustavbrook100% (1)
- Atividades - Distribuição EletrônicaDocumento2 páginasAtividades - Distribuição Eletrônicamaadu0407Ainda não há avaliações
- Sagrado Anjo GuardiaoDocumento5 páginasSagrado Anjo Guardiaojhonherbert95Ainda não há avaliações
- 1-Ficha Av PORT - Outubro-3ºanoDocumento4 páginas1-Ficha Av PORT - Outubro-3ºanoCarla Alexandra Reis100% (1)
- Determinação de PIDocumento4 páginasDeterminação de PIAna SóAinda não há avaliações
- 5 AnoDocumento21 páginas5 AnoKatiane Pereira dos SantosAinda não há avaliações
- DAM - Documento de Arrecadação Mercantil: Cavalcante Construcao LtdaDocumento2 páginasDAM - Documento de Arrecadação Mercantil: Cavalcante Construcao LtdaJamileAinda não há avaliações
- Apostila Sobre JohreiDocumento39 páginasApostila Sobre JohreiJinsai Sama100% (4)
- Teste Fracoes 5ºDocumento5 páginasTeste Fracoes 5ºSílvia GodinhoAinda não há avaliações
- Revisão+03+ +oab+ UnlockedDocumento21 páginasRevisão+03+ +oab+ UnlockedWillian DuarteAinda não há avaliações
- Encontrar Você (Vous Revoir) - Marc Levy-Www - LivrosGratisDocumento224 páginasEncontrar Você (Vous Revoir) - Marc Levy-Www - LivrosGratisLuanaroncattoAinda não há avaliações
- Musica e EspiritoDocumento7 páginasMusica e Espiritopaulo gomesAinda não há avaliações
- Projeto Belt PTDocumento4 páginasProjeto Belt PTEveni PereiraAinda não há avaliações
- Linhas de Cuidado - Hipertensão e DiabetesDocumento236 páginasLinhas de Cuidado - Hipertensão e Diabetesmrsimbad100% (1)
- Sinergismo Tenepes Invexis Synergism BetDocumento10 páginasSinergismo Tenepes Invexis Synergism BetCasaRara ArquiteturaAinda não há avaliações
- Atividade de Portugues Oracao Sem Sujeito 9º Ano RespostasDocumento2 páginasAtividade de Portugues Oracao Sem Sujeito 9º Ano RespostasEllienne Maria Soares Xavier dos SantosAinda não há avaliações
- Bimbo Ok Parte 2Documento94 páginasBimbo Ok Parte 2thiagoAinda não há avaliações
- Apostila Ultra Consciência Expandida Hipnose TranspessoalDocumento50 páginasApostila Ultra Consciência Expandida Hipnose TranspessoalLuis FantiAinda não há avaliações
- Parábola Do Bom SamaritanoDocumento3 páginasParábola Do Bom SamaritanoDouglas BezerraAinda não há avaliações
- ATividade de História 2 Ano.Documento5 páginasATividade de História 2 Ano.Uelia Chaves0% (1)
- Tabla AceiteTornillo BitzerDocumento2 páginasTabla AceiteTornillo Bitzeryoye1968Ainda não há avaliações
- Aprovados em 2 Chamada Sisu 2019.1 PDFDocumento37 páginasAprovados em 2 Chamada Sisu 2019.1 PDFMatheus LoureiroAinda não há avaliações
- O Matrimônio PerfeitoDocumento167 páginasO Matrimônio PerfeitoKlexyuz ViniciusAinda não há avaliações
- Trabalho em Grupo A Crise EconomicaDocumento8 páginasTrabalho em Grupo A Crise EconomicaAlexandre Pedro100% (1)
- Segunda Guerra MundialDocumento36 páginasSegunda Guerra MundialManuh OliveiraAinda não há avaliações
- Empreendedorismo e Gestão EstrategicaDocumento19 páginasEmpreendedorismo e Gestão EstrategicaIsaac JoséAinda não há avaliações
- Apostila Day Trade 2Documento38 páginasApostila Day Trade 2Bruno Alves88% (8)
- Tigre RA 2021 PT Completa CompressedDocumento120 páginasTigre RA 2021 PT Completa CompressedlouiseAinda não há avaliações
- Métodos Estudo 5 AnoDocumento2 páginasMétodos Estudo 5 AnoCarolinaAinda não há avaliações
- Treinamento Dos Músculos Do Assoalho Pélvico Nos Sintomas Da Bexiga Hiperativa - Um Estudo ProspectivoDocumento7 páginasTreinamento Dos Músculos Do Assoalho Pélvico Nos Sintomas Da Bexiga Hiperativa - Um Estudo ProspectivoMaria FernandaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento17 páginas1 PBCaio HigaAinda não há avaliações