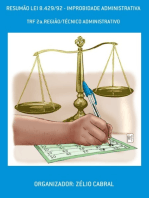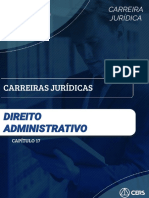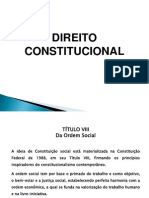Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila de Direito Administrativo Vol 1 Cespe
Apostila de Direito Administrativo Vol 1 Cespe
Enviado por
Wagner SilvaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila de Direito Administrativo Vol 1 Cespe
Apostila de Direito Administrativo Vol 1 Cespe
Enviado por
Wagner SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
APOSTILA DE DIREITO
ADMINISTRATIVO
1 VOLUME
PROFESSOR GUSTAVO FELKL BARCHET
INDICE
I. INTRODUO 03/10
II. PRINCPIOS DA ADMINISTRAO PBLICA 11/31
III. RGOS E AGENTES PBLICOS 32/44
IV. ADMINISTRAO PBLICA 45/79
V. NOVAS FIGURAS DA REFORMA ADMINISTRATIVA E
TERCEIRO SETOR 80/106
VI. PODERES E DEVERES ADMINISTRATIVOS 107/133
VII. SERVIDORES PBLICOS 134/211
INTRODUO
1. FUNES DO ESTADO
O poder estatal, conquanto uno e indivisvel, desmembra-se em trs funes: a
legislativa, a jurisdicional e a administrativa.
Numa perspectiva objetiva material, baseada nos elementos intrnsecos da
funo, a primeira consiste na expedio de atos gerais e abstratos; a segunda na
soluo de controvrsias jurdicas; e a terceira na atividade concreta por meio da qual
se busca de modo direto e imediato a realizao de determinada utilidade pblica.
Num sentido objetivo formal, lastreado no tratamento jurdico conferido a
cada funo, nos atributos a cada uma delas outorgado pelo sistema jurdico,
legislativa seria a funo por meio da qual se inova na ordem jurdica, com
fundamento to s na Constituio; jurisdicional a que resolve controvrsias jurdicas
com fora de definitividade; e administrativa a que se desenvolve por meio de
comandos infralegais legais ou mesmo infraconstitucionais, produzidos na intimidade
de uma estrutura hierrquica.
Tais funes so atribudas com precipuidade, mas no com exclusividade, a
cada um dos Poderes de nossa Repblica. Ao Poder Legislativo cabe
predominantemente o desempenho da funo legislativa; ao Judicirio o da funo
jurisdicional e ao Executivo o da funo administrativa.
Todavia, todos os Poderes exercem, secundariamente, funes que so
atribudas em carter principal aos demais. Isto se deve ao fato de que o nosso
sistema constitucional adotou o princpio da especializao de funes, e no uma
rgida atribuio de uma delas, com exclusividade, a um dos Poderes da repblica.
Podemos, assim, dizer que o Poder Executivo tem como funo tpica a
administrativa, mas ao dela detm atribuies de carter normativo (quando, por
exemplo, edita medidas provisrias) e jurisdicional (quando decide litgios em mbito
administrativo).
Da mesma forma, O Legislativo precipuamente legisla, mas tambm, de forma
atpica, julga (o Senado, por exemplo, tem competncia para julgar o Presidente da
Repblica nos crimes de responsabilidade) e administra (quando promove um concurso
pblico para o preenchimento de seus cargos, ou uma licitao para a celebrao de
determinado contrato).
E o Judicirio, a exemplo dos demais Poderes, alm de sua funo tpica a
jurisdicional -, tambm atipicamente exerce atribuies de carter normativo (quando
os Tribunais elaboram seus respectivos regimentos internos, por exemplo) e
administrativo (quando contrata seu pessoal e organiza os servios de suas
secretarias).
2. ADMINISTRAO EM SENTIDO AMPLO E EM SENTIDO ESTRITO
Num sentido amplo, o vocbulo Administrao Pblica compreende num
primeiro patamar os rgos governamentais, superiores, e suas respectivas
funes, eminentemente polticas, de comando e direo, mediante as quais so
fixadas as diretrizes e elaborados os planos de atuao do Estado. Num segundo
patamar, a expresso tambm abarca os rgos e entidades administrativos,
subalternos, bem como suas funes, basicamente de execuo dos planos
governamentais.
Em sentido estrito, por sua vez, a expresso tem sua abrangncia limitada aos
rgos e entidades administrativos, que exercem apenas funes de carter
administrativo, em execuo aos planos gerais de ao do Estado. Ficam fora de seu
alcance, portanto, os rgos governamentais e as funes de cunho poltico que os
mesmos exercem.
Ser a partir desta segunda concepo de Administrao Pblica que
desenvolveremos nosso trabalho.
3. ADMINISTRAO PBLICA EM SENTIDO SUBJETIVO, FORMAL OU
ORGNICO
Em sentido subjetivo, quanto aos sujeitos que exercem a funo
administrativa, conceitua-se Administrao Pblica como o conjunto de agentes,
rgos e pessoas jurdicas aos quais atribudo o exerccio da funo
administrativa.
Nessa definio ento contidos todos os agentes pblicos que desenvolvem
alguma funo ligada esfera administrativa; os entes federados (Unio, Estados,
Distrito Federal e Municpios) e os rgos que os integram (a chamada Administrao
Direta); bem como as entidades administrativas, que desempenham suas funes de
maneira descentralizada (a denominada Administrao Indireta)
Enfim, corresponde a Administrao Pblica, em sentido subjetivo, a todo o
aparelhamento de que dispe o Estado para a execuo das atividades
compreendidas na funo administrativa.
4. ADMINISTRAO PBLICA EM SENTIDO OBJETIVO, MATERIAL OU
FUNCIONAL
Em sentido objetivo, a Administrao Pblica corresponde s diversas
atividades exercidas pelo Estado, por meio de seus agentes, rgos e entidades, no
desempenho da funo administrativa.
Nessa acepo material, a Administrao Pblica engloba as atividades de
fomento, polcia administrativa, servio pblico e interveno administrativa.
O fomento consiste na atividade de incentivo iniciativa privada de
interesse pblico, mediante incentivos fiscais, auxlios financeiros e subvenes,
entre outros instrumentos de estmulo.
A polcia administrativa compreende as atividades relacionadas ao controle,
fiscalizao e execuo das denominadas limitaes administrativas, as quais
constituem restries e condicionamentos impostos ao exerccio de direitos
individuais em prol do interesse coletivo.
Servio pblico, por sua vez, toda atividade concreta que a
Administrao exerce, por si ou por meio de terceiros, com a finalidade de
satisfazer as mais variadas necessidades coletivas, sob regime exclusivamente
ou preponderantemente de Direito Pblico.
A interveno administrativa, por fim, compreende duas espcies de
atividades: a regulamentao e a fiscalizao da atividade econmica de
natureza privada e a atuao direta do Estado no domnio econmico, dentro dos
permissivos constitucionais.
H autores, a exemplo da Professora Di Pietro, que enquadram na funo
administrativa apenas atividades regidas total ou preponderamente por regime de
direito pblico, excluindo de seu mbito, em funo desse posicionamento, a atuao
direta do Estado na economia, uma vez que nesse caso estamos perante uma
atividade de natureza tipicamente privada, exercida sob regime de monoplio.
5. DIREITO ADMINISTRATIVO - NATUREZA JURDICA
H dois grandes ramos em que se subdivide o Direito: Direito Pblico e Direito
Privado.
Os parmetros que se prestam a tal diviso so fonte de insolveis divergncias
entre os doutrinadores. De qualquer forma, dentro das finalidades deste trabalho,
podemos considerar que o Direito Pblico tem por objeto a regulao dos interesses
estatais e sociais, s atingindo as condutas individuais de forma indireta, enquanto
relacionadas a tais interesses. Neste ramo se aglutinam as disciplinas jurdicas que
visam sobretudo assegurar a predominncia dos interesses da coletividade sobre os
interesses particulares de cada um de seus integrantes, disso decorrendo a sua
principal caracterstica: a existncia de uma desigualdade jurdica entre as partes
integrantes da relao, encontrando-se o Estado, na condio de representante da
coletividade, em posio de superioridade perante o particular. Como integrantes deste
ramo podemos citar o Direito Constitucional, o Direito Administrativo, o Direito
Eleitoral, o Direito Tributrio etc
J o Direito Privado visa preponderantemente tutela dos interesses individuais,
com vistas a um convvio harmnico das pessoas na sociedade, sejam elas fsicas ou
jurdicas, pblicas ou privadas. Assim sendo, as relaes regidas pelo Direito Privado
so marcadas pela igualdade jurdica entre suas partes integrantes. Nesse ramo
jurdico situam-se o Direito Civil e o Direito Comercial e, para alguns doutrinadores, o
Direito do Trabalho.
Como prelecionam os Professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, a nota
caracterstica do Direito Privado a existncia de igualdade jurdica entre os plos das
relaes por ele regidas. Como os interesses tutelados so interesses particulares, no
h motivo para que se estabelea, a priori, qualquer relao de subordinao entre as
partes. Mesmo quando o Estado integra um dos plos de uma relao regida pelo
Direito Privado, h igualdade jurdica entre as partes.
Podemos considerar que h desigualdade jurdica jurdica em determinada relao
quando uma de suas partes detm determinados direitos ou prerrogativas com
exclusividade, de forma tal que lhe asseguram uma posio de superioridade frente
outra parte. Por exemplo, num contrato firmado entre o Estado e um particular, sob a
gide do Direito Administrativo, o primeiro pode, dentro dos parmetros legais,
promover por ato unilateral alteraes nas clusulas inicialmente acordadas. Tal
faculdade no outorgada ao particular, que no pode por sua exclusiva vontade
proceder a uma modificao dessa natureza.
Por outro lado, h igualdade jurdica em determinada relao quando suas partes
abstratamente gozam dos mesmos direitos e se encontram e sujeitas a idnticas
obrigaes, inexistente qualquer espcie de subordinao entre elas. Num contrato de
Direito Privado, como numa compra e venda entre comerciantes, p. ex., nenhum deles
pode se sobrepor ao outro e alterar os termos iniciais consensualmente acertados.
Apenas mediante a concordncia de todos os participantes da conveno poder a
mesma sofrer modificaes.
O Estado pode participar de relaes jurdicas tanto de Direito Pblico quanto de
Direito Privado, embora a primeira situao seja francamente dominante. Se
desapropriar um imvel para a construo de uma escola estar enquadrado no
primeiro caso, j que busca a consecuo de um interesse coletivo, em funo do que
possui diversas prerrogativas sem paralelo para o particular que teve seu bem
desapropriado; se, por meio de uma de suas entidades financeiras, celebrar um
contrato de abertura de conta corrente, estar o mesmo sujeito a regime de Direito
Privado, sendo a relao caracterizada pela igualdade jurdica, pois no se vislumbra
qualquer interesse transcendente que pudesse legitimar uma posio de superioridade
do Estado.
no ordenamento jurdico de cada Estado, em especial na sua Constituio, que
encontramos a definio de quais interesses so considerados pblicos, de forma a
legitimar a existncia de relaes jurdicas, vinculadas a tais interesses, nas quais o
Estado situe-se em posio de superioridade frente o particular.
O Direito Administrativo indubitavelmente enquadra-se nos ramos do Direito
Pblico, pois regula a organizao e o desenvolvimento das atividades do Estado
voltadas para a consecuo de interesses pblicos.
6. DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCEITO
A doutrina rica em conceituaes de Direito Administrativo. Sem nos
perdermos em suas pormenorizaes, trazemos a ttulo ilustrativo algumas das
definies apresentadas por alguns de nossos autores de renome.
A Professora Maria Sylvia di Pietro entende que o Direito Administrativo o
ramo do direito pblico que tem por objeto os rgos, agentes e pessoas jurdicas
administrativas que integram a Administrao Pblica, a atividade jurdica no
contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecuo de seus fins, de
natureza poltica.
O Professor Celso Antnio Bandeira de Mello, por sua vez, sinteticamente define
Direito Administrativo como o ramo do Direito Pblico que disciplina a funo
administrativa e os rgos que a exercem.
Por fim, o professor Hely Lopes Meirelles considera que o Direito Administrativo
consiste no conjunto harmnico de princpios jurdicos que regem os orgos, os
agentes e as atividades pblicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente
os fins desejados pelo Estado.
7. ABRANGNCIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO
Um erro que deve ser evitado entender-se o Direito Administrativo como
aplicvel apenas aos rgos e entidades integrantes do Poder Executivo.
Todos os Poderes da Repblica Legislativo, Executivo e Judicirio
subordinam-se s normas de Direito Administrativo quando exercem atividades desta
natureza. Assim, atos como a realizao de uma licitao, a promoo de um concurso
pblico para o preenchimento de cargos vagos, a punio de um servidor pelo
cometimento de determinada falta, so todos regrados pelo Direito Administrativo,
mesmo quando praticados no mbito nos Poderes Legislativo e Judicirio.
Em verdade, como a maioria das atividades de carter administrativo so
exercidas pelo Poder Executivo, a ele que se aplica com mais frequncia o Direito
Administrativo. Todavia, os demais Poderes, ao exercerem a funo administrativa,
tambm tero seus atos regrados pelas normas que compem este ramo do Direito.
Assim, modernamente entende-se que qualquer autoridade ou agente pblico,
ao praticar atividades de natureza administrativa, necessariamente ter seus atos
regulados pelo Direito Administrativo.
8. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: SISTEMA INGLS E SISTEMA FRANCS
Sistema administrativo consiste no regime adotado para o controle dos atos
praticados pela Administrao Pblica, em qualquer dos nveis de governo (federal,
estadual, distrital e municipal), no mbito de qualquer dos Poderes da Repblica
(Executivo, Legislativo e Judicirio). Por meio dele se exerce o controle acerca da
legalidade e da legitimidade dos atos administrativos.
Temos dois sistemas: o ingls e francs.
O sistema ingls, tambm denominado sistema de jurisdio nica ou de
controle judicial, aquele em que o Poder Judicirio competente para a apreciao
e o julgamento de todas as espcies de litgios, tanto aqueles envolvendo somente
particulares como aqueles em que uma das partes a Administrao Pblica.
Nesse sistema no se encontra a Administrao impedida de apreciar a
legalidade dos atos praticados em seu mbito. Ao contrrio, tal tarefa constitui no
somente uma faculdade, mas um dever a ela imposto. Assim sendo, perfeitamente
possvel, e desejvel, que a Administrao aprecie a legalidade de seus atos, no
exerccio de seu poder-dever de autotutela.
A peculiariedade desse sistema que apenas o Poder Judicirio possui a
competncia para dizer acerca da legalidade ou da legitimidade de um ato
administrativo com fora de definitividade, de coisa julgada. Nesse sistema a esfera
administrativa constitui apenas uma alternativa posta disposio do administrado.
Este, se insatisfeito com a deciso proferida em seu mbito, poder recorrer ao Poder
Judicirio, que possui competncia plena para a reapreciao do caso. Poder o
administrado, ainda, buscar diretamente a tutela jurisdicional, bem como a ela recorrer
aps ter instaurado um processo em mbito administrativo, mesmo antes de ser
prolatada qualquer deciso nesta esfera.
No sistema francs, ou sistema do contencioso administrativo, h uma
diviso de competncia, ficando o Poder Judicirio impedido de apreciar a adequao
ordem jurdica dos atos praticados pela Administrao Pblica, pois tal anlise
competncia exclusiva da prpria Administrao. Existem, assim, duas esferas de
soluo de litgios, com competncia para solv-los com fora de definitividade: a
judicial ou jurisdicional, constituda por rgas do Poder Judicirio, apta apreciao
de litgios que no envolvam a Administrao Pblica; e a administrativa, composta
por tribunais e julgadores monocrticos integrantes da prpria Administrao,
competente para o deslinde das controvrsias que envolvam quaisquer dos rgos e
entidades que compem sua estrutura.
9. SISTEMA ADMINISTRATIVO BRASILEIRO
Vistos os dois sistemas de controle de legalidade e legitimidade dos atos
administrativos, cabe afirmar que no Brasil vige o sistema ingls, ou seja, em nosso
pas o Poder Judicirio competente para proferir decises definitivas em quaisquer
espcies de litgios (ressalvadas as excees constitucionais), inclusive aqueles em que
uma das partes envolvidas seja a Administrao Pblica.
Este sistema tem previso constitucional, no art. 5, XXXV, da CF, que
estabelece o denominado princpio da inafastabilidade de jurisdio, nos
seguintes termos:
XXXV - a lei no excluir da apreciao do Poder Judicirio leso ou ameaa a
direito;
Entenda-se bem: a lei no pode retirar do Judicirio a competncia para a
apreciao de situaes que impliquem ou possam implicar em leso ou ameaa de
leso a direito. Todavia, a prpria Constituio pode faz-lo. E efetivamente o faz,
como no caso do processo de impeachment do Presidente da Repblica, o qual
compete com exclusividade ao Senado Federal, aps a autorizao para sua
instaurao pela Cmara dos Deputados.
Ainda, entende o Supremo Tribunal Federal que no tem o Judicirio
competncia para apreciar atos esssencialmente polticos, tais como a nomeao de
um dirigente de uma empresa estatal pelo Presidente da Repblica ou a fixao de
metas de governo. Todavia, se tais atos puderem, direta ou indiretamente, malferir
direitos individuais ou coletivos, so passveis de apreciao judicial.
Finalizando, antes afirmamos que no Brasil apenas o Poder Judicirio possui
competncia para decidir litgios com fora de coisa julgada. Tal assertiva merece um
reparo. Como antes afirmamos, a deciso na esfera administrativa no assume carter
de definitividade para o particular, o qual, inconformado com seu teor, sempre poder
se valer da via judicial pleiteando sua alterao. Todavia, prolatada uma deciso em
mbito administrativo favorvel ao particular, vedado Administrao o ingresso
no Judicirio com a finalidade de obter sua reforma. Entendem nossos Tribunais que
seria um contra-senso a Administrao num momento decidir um litgio
favoravelmente ao administrado e, em momento posterior, se insurgir contra sua
prpria deciso e tentar alter-la na via judicial.
10. UMA CONCEPO MODERNA
Diversos doutrinadores advogam, muitas vezes implicitamente, uma concepo
equivocada de Direito Administrativo, vislumbrando-o como uma disciplina jurdica
instituda para vergar os administrados ao poder estatal. Nada mais errado.
O Direito Administrativo teve sua origem com o Estado de Direito, ou seja, com
um modelo de organizao poltico-institucional que coloca a Lei como fonte primeira
de direitos e obrigaes, em detrimento das formaes polticas at ento existentes,
que atribuiam ao govervo poderes praticamente ilimitados de gesto, facilmente
utilizados de forma arbitrria.
O Direito Administrativo veio a lume exatamente para controlar o exerccio do
poder pelos governantes e demais agentes pblicos. Todas as competncias
administrativas no tm a natureza de poderes, a serem exercidos quando e enquanto
o desejarem seus pretensos detentores; mas de verdadeiros poderes-deveres,
atribuies outorgadas por lei e que devem ser exercitadas na exata extenso e
intensidade requeridas para a consecuo do interesse pblico e apenas enquanto o
forem.
Como com maestria nos ensina o Professor Bandeira de Mello, os agentes
pblicos no manejam propriamente poderes, a exemplo de um particular quanto a
seus bens. Na verdade, eles desempenham funo, a qual, nas palavras do autor,
existe quando algum est investido do dever de satisfazer certas finalidades em prol
dos interesses de outrem, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos
para supri-las. Logo, tais poderes so instrumentais, ao alcance das sobreditas
finalidades.
11. INTERESSE PBLICO - CONCEITO
Bandeira de Mello diz que na verdade, o interesse pblico, o interesse do todo,
nada mais do que a dimenso pblica dos interesses individuais, ou seja, os
interesses de cada indivduo enquanto partcipes da sociedade (entificada
juridicamente no Estado).
O interesse pblico no , pois, algo situado externamente aos indivduos, que
no lhes diga respeito, mas apenas ao Estado ou sociedade genericamente
considerada. Por outa via, tambm no corresponde ele ao simples somatrio dos
interesses particulares. Em verdade, o interesse pblico nada mais do que o
conjunto de interesses de que cada membro titular enquanto membro da
sociedade politicamente organizada. Um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, um bom sistema de saneamento bsico, so exemplos de interesses que
se enquadram com perfeio na definio.
A compreenso do conceito traz duas consequncias imediatas:
1) destri a equivocada suposio de que os interesses pblicos (ou coletivos) seriam
algo estranho aos interesses individuais e, portanto, insuscetveis de defesa pelos
particulares, em seu prprio nome. Sempre que o administrado for individualmente
prejudicado em algum interesse reputado como pblico, poder insurgir-se, em termos
individuais, contra a leso de que foi vtima. Alm disso, poder defender o interesse
pblico violado em termos coletivos, mediante ao popular ou ao civil pblica;
2) alicera a percepo de que nem todos os interesses defendidos pelo Estado so
interesses pblicos.
12. ESPCIES DE INTERESSES DO ESTADO
O Estado possui dois tipos de interesses: primrios ou pblicos (pblicos
propriamente ditos) e secundrios.
Interesses pblicos ou primrios so os pertinentes coletividade como
um todo. Tais interesses so aqueles que legitimam a prpria existncia do ente
estatal, pois tm por contedo a satisfao das necessidades dos membros da
sociedade, individual ou coletivamente considerados. a Constituio de cada
Estado que, soberamente, qualifica determinado interesse como pblico ou primrio.
Os interesses secundrios so aqueles que o Estado possui em virtude da
sua condio de pessoa jurdica. So interesses privados do Estado, que s podem
ser defendidos quando em consonncia com os interesses primrios. Um volume
considervel de recursos financeiros, a propriedade de bens imveis, um nmero de
agentes suficiente para o desempenho das atividades administrativas so exemplos de
interesses secundrios do Estado. Basicamente, tais interesses correspondem ao
aparelhamento e aos recursos financeiros que o Estado deve possuir para bem
cumprir suas finalidades (interesses primrios), estando sua satisfao, pois, a elas
subordinada.
13. FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO
Estudaremos na prxima unidade o princpio da legalidade, o primado da lei, de
central importncia nos Estados democrticos de Direito, tais como o nosso, e que
adquire uma conformao toda especfica dentro do Direito Administrativo.
Inobstante tal princpio, que coloca a lei no centro do sistema jurdico, costuma-
se elencar como fontes do Direito Administrativo, alm da lei, a jurisprudncia, a
doutrina e os costumes.
A lei, em sentido, amplo, desde a Constituio at os atos normativos editados
pelas autoridades administrativas, a fonte primeira deste ramo do Direito, como ser
visto quando do estudo do princpio da legalidade.
A jurisprudncia, neste contexto comprendida como o conjunto de decises de
mesmo teor em relao determinada matria, ou seja, as decises reiteradas do
Poder Judicirio em determinado assunto, influencia notavelmente o Direito
Administrativo no Brasil, em vista da inexistncia de um cdigo de leis administrativas
que permita uma melhor percepo sistemtica deste ramo jurdico, o que suprido,
em grande parte, pelo trabalho de nossos magistrados.
A doutrina, as construes tericas dos estudiosos do Direito, tambm traz
grandes contribuies ao Direito Administrativo, pois o trabalho dos estudiosos
levado em considerao tanto pelos membros do Poder Legislativo, que elaboram as
leis, como pelos membros do Poder Judicirio, que julgam os litgios oriundos da
aplicao de suas disposies.
O costume, conjunto de regras informais observadas de forma uniforme e
constante pela conscincia de sua obrigatoriedade, apesar de ainda constar no rol de
fontes do Direito Administrativo, exerce em nosso pas pouca influencia neste ramo
jurdico, se que ainda exerce alguma. Em termos tericos, dele poderiam se valer as
autoridades administrativas frente a uma lacuna legislativa, embora dificilmente uma
prtica desta natureza seja vlida perante o princpio da legalidade, adiante analisado.
II. PRINCPIOS FUNDAMENTAIS DA
ADMINISTRAO PBLICA
1. REGIMES PBLICO E PRIVADO NA ADMINISTRAO PBLICA
A Administrao Pblica pode subordinar-se a regime de direito pblico ou de
direito privado. Ser pela anlise da Constituio e dos demais diplomas legais que
compem nosso ordenamento jurdico que poderemos concluir pela aplicabilidade de
um ou outro frente a uma situao em concreto.
Por exemplo, o art. 173, 1, da Constituio, determina que as empresas
pblicas, sociedades de economia mista (entidades integrantes da Administrao
Pblica Indireta) e suas subsidirias, ao explorarem atividade de natureza econmica,
o faro se sujeitando s mesmas normas aplicveis s empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigaes civis, comerciais, trabalhistas e tributrios. Aplicar-se-
precipuamente, por conseguinte, o regime de direito privado
J o art. 37, II, da CF, impe a necessidade de concurso pblico para a
investidura em cargos e empregos pblicos de provimento efetivo, o que significa que
a Administrao s poder integrar seus quadros funcionais observando tal regra,
tipicamente caracterstica do regime de direito pblico.
Quando a Administrao Pblica sujeita-se a regime de direito privado,
aplicam-se a ela as regras jurdicas vlidas para os particulares em geral,
ressalvadas as matrias em que tem lugar a incidncia de normas de direito
pblico. o caso das empresas pblicas que explorarem atividade econmica:
tero seus atos regrados basicamente pelo Direito Privado, mas s podero
preencher seus quadros efetivos mediante concurso pblico (norma de carter
pblico). A tal espcie de entidade administrativa aplica-se preponderamente o
regime de direito privado, com a incidncia tpica de algumas regras prprias
do regime de direito pblico.
Sobre o assunto, a Professor Di Pietro afirma que o que importante salientar
que, quando a Administrao emprega modelos privatsticos, nunca integral sua
submisso ao direito privado; s vezes, ela se nivela ao particular, no sentido de que
no exerce sobre ele qualquer prerrogativa de Poder Pblico; mas nunca se despe de
determinados privilgios, como o juzo privativo, a prescrio quinquenal, o processo
especial de execuo, a impenhorabilidade de seus bens; e sempre se submete a
restries concernentes competncia, finalidade, motivo, forma, procedimento,
publicidade. Outras vezes, mesmo utilizando o direito privado, a Administrao
conserva alguma de suas prerrogativas, que derrogam parcialmente o direito comum,
na medida necessria para adequar o meio utilizado ao fim pblico a cuja consecuo
se vincula a lei.
Com a expresso regime jurdico da Administrao Pblica designamos tanto o
regime de direito pblico como o de direito privado a que pode ela se submeter. Na
imensa maioria das vezes, contudo, sero de direito pblico as normas aplicveis
Administrao. Nesse caso denomina-se o regime a que ela se sujeita de regime
jurdico-administrativo, caracterizado pela unilateralidade e pela verticalidade
da relao jurdica formada entre a Administrao e o administrado. Nas palavras da
Professora Di Pietro, essa ltima expresso reservada to somente para abranger o
conjunto de traos, de conotaes, que tipificam o Direito Administrativo, colocando a
Administrao Pblica numa posio privilegiada, vertical, na relao jurdico-
administrativa.
Na sua essncia, o regime jurdico-administrativo pode ser resumido em duas
palavras: prerrogativas e sujeies.
O Direito Administrativo desenvolveu-se a partir de duas noes bsicas: de um
lado, a Administrao tem que se situar em posio de superioridade frente ao
indivduo, como condio inafastvel para o pleno sucesso de sua misso, qual seja, a
satisfao dos interesses pblicos, em funo do que lhe so outorgados
prerrogativas e privilgios exclusivos, sem paralelo no direito privado e exercidos
legitimamente apenas quando e enquanto visarem satisfao de algum interesse
coletivo; de outro, para evitar que a Administrao restrinja em demasia a esfera de
autonomia do individuo, violando seus direitos fundamentais, est ela sujeita a
inmeras restries ou sujeies, tambm sem correspondncia no direito privado.
Da a bipolaridade do Direito Administrativo: liberdade do indivduo e
autoridade da Administrao; restries e prerrogativas. Para assegurar-se a
liberdade, sujeita-se a Administrao Pblica observncia da lei; a aplicao, ao
direito pblico, do princpio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da
Administrao Pblica, necessria consecuo de seus fins, so-lhe outorgados
prerrogativas e privilgios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse
pblico sobre o particular (Di Pietro).
Em outros termos, isto que dizer que a Administrao detm prerrogativas ou
privilgios desconhecidos na esfera privada, dentre os quais podemos citar o poder de
criar obrigaes para o administrado por ato unilateral, a auto-executoriedade de
diversos dos seus atos, o poder de expropriar, o de requisitar bens e servios, o de
ocupar temporariamente o imvel alheio, o de ter seus atos praticados sob a gide da
presuno de legitimidade e veracidade; porm, paralelamente a tais prerrogativas, a
Administrao Pblica tem sua conduta balizada por inmeras restries, dentre elas
os princpios da legalidade e da finalidade, a obrigatoriedade de dar publicidade de
seus atos, de realizar concorrncia pblica para proceder s suas contrataes, a
impossibilidade de celebrar acordos judiciais, ainda que favorveis, salvo mediante
autorizao legislativa, a vedao ao uso da arbitragem como forma de composio de
litgios. Tal regime diferenciado se justifica pela sua finalidade: conferir equilbrio entre
a posio de supremacia da Administrao e a esfera de liberdade constitucionalmente
assegurada ao particular.
Embora seja tradicional a anlise do regime jurdico-administrativo com base no
binmio Administrao/administrado, no deve restar dvidas que ele se aplica
tambm s relaes formadas entre a Administrao Direta e alguma de suas
entidades da Administrao Indireta, bem como entre entidades da Administrao
Indireta, apesar de, neste caso, a relao ser marcada geralmente pela
horizontalidade, posicionando-se seus participantes no mesmo patamar hierrquico.
vlido frisar que o regime jurdico-administrativo aplica-se precipuamente,
mas no exclusivamente, s pessoas jurdicas de direito pblico, pois ele tambm
incide, ainda que de forma menos contundente, sobre as pessoas administrativas de
direito privado, embora tal posicionamento no seja acolhido por algumas bancas de
concurso, ao menos em determinados certames, nos quais se afirma que o regime de
direito pblico abrange exclusivamente as pessoas de direito pblico, posio que, em
consonncia com a melhor doutrina, no acatamos.
Muitas das prerrogativas e sujeies peculiares Administrao, que compem
o regime jurdico-administrativo, esto consubstanciadas em diversos princpios, como
analisaremos a seguir.
2. PRINCPIOS DA ADMINISTRAO PBLICA
Princpios representam as diretrizes mestras de determinado sistema, os
valores e idias nucleares que lhe conferem um sentido lgico e racional,
condicionando todas suas estruturaes subsequentes. Os princpios, no
ordenamento jurdico, podem estar previstos de forma explcita, quando
veiculados em determinada norma; ou implcita, quando resultam da
interpretao sistemtica das normas que compem o ordenamento.
Alguns dos princpios informadores da atuao administrativa encontram-se
previstos no art. 37 da Constituio de 1998, que trata especificamente da
Administrao Pblica, a exemplo dos princpios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficincia; outros se encontram esparsos ao longo do
texto constitucional, principalmente no art. 5, como os princpios do devido processo
legal e do contraditrio e da ampla defesa. Outros, ainda, esto previstos na legislao
infraconstitucional. Por fim, h aqueles que econtram-se apenas implcitos no
ordenamento jurdico, vindo lume por fora do labor doutrinrio e jurisprudencial,
como os princpios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O professor Bandeira de Mello considera basilares os princpios da supremacia
do interesse pblico sobre o privado e da indisponibilidade do interesse pblico. A
professora Di Pietro, de forma diversa, coloca no pice do nosso sistema administrativo
os princpios da legalidade e da supremacia do interesse pblico sobre o privado. Tais
colocaes, apesar de importantes, apontam apenas para uma divergncia de
entendimento entre alguns dos nossos maiores doutrinadores. O que importa
efetivamente o estudo de cada um dos princpios administrativos e a percepo de
que sua leitura deve ser feita de uma forma conjunta, sob uma perspectiva
sistemtica, entrevendo todos como idias mestras que informam nosso regime
administrativo.
Iniciaremos o estudo pelos princpios elencados no caput do art. 37 da
Constituio, passando a seguir anlise dos demais princpios norteadores da funo
administrativa. Todos eles se aplicam a todos os Poderes da Repblica e a todas as
esferas de Governo, quando no desempenho da funo administrativa.
3. PRINCPIO DA LEGALIDADE
O princpio da legalidade princpio basilar do Estado de Direito e, como tal,
vincula toda a conduta da Administrao, adquirindo em seu mbito um sentido
peculiar. Ao contrrio do princpio da supremacia do interesse pblico sobre o privado,
que vigora e vigorou em todos os Estados e em todas as pocas, o princpio da
legalidade peculiar ao denominado Estado de Direito, erigido no sc. XIX,
constituindo a prpria substncia desta forma de organizao poltica e racionalizao
da vida societria. Um Estado assim qualificado precisamente porque nele vigora a
lei como dogma bsico, regulando a conduta de todos, tambm e principalmente de
prprio Estado e de seus rgos e entidades.
A dico mais genrica deste princpio vem inscrita no art. 5, II, da
Constituio, vazado nos seguintes termos: ningum ser obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa seno em virtude de lei. No h dispositivo constitucional
especfico que estabelea a fisionomia de tal princpio quando aplicvel
Administrao Pblica, mas nesse mbito ele adquire uma conotao peculiar, mais
densa, diferente daquela com que ele interpretado quando dirigido aos particulares.
Para os particulares o princpio deve se compreendido em uma acepo
negativa, no sentido de que lhe so autorizados todos os comportamentos para os
quais no exista expressa norma proibitiva. Dessa forma, os administrados em geral
no tem certa conduta impedida em virtude da inexistncia de norma legal permissiva
ou autorizante. Atuam em suas relaes privadas segundo o princpio da autonomia
da vontade.
Para a Administrao no basta esta ausncia, ao contrrio, pressuposto de
sua atuao a existncia de lei autorizante. Ao contrrio dos particulares, a
Administrao est impedida de agir em determinada situao quando no h
norma legal que lhe outorgue competncia para tanto. Isto se deve ao fato de que a
Administrao no tem vontade prpria, autnoma e desvinculada da lei, constituindo
a norma requisito indispensvel para que os rgos e entidades administrativas, por
meio de seus agentes, possam praticar qualquer ato com consequncias jurdicas.
Tal concluso embasa o posicionamento doutrinrio unnime que considera a
atividade administrativa, dentro da sistemtica adotada em nosso ordenamento
jurdico, necessariamente infralegal, consistente em nanifestaes complementares
lei e que, destarte, necessariamente a pressupem. Consiste o princpio da legalidade,
neste contexto, numa autolimitao do Estado frente aos direitos dos administrados,
por meio da vinculao de toda a conduta administrativa lei, em sentido formal ou
apenas material, a qual atua como uma verdadeira medida do poder estatal. Diz-se,
assim, que a Administrao, afora o fato de no poder atuar contra a lei ou alm de
seus dispositivos, est adstrita a atuar nos seus exatos termos, ou de outra forma, que
a atividade administrativa no pode ser contra legem (contra a lei) ou praeter legem
(alm da lei), mas apenas secundum legem (segundo a lei). Os particulares, apesar de
no poderem se conduzir contra legem, podem faz-lo praeter legem, j que, como
antes afirmamos, as condutas para eles no expressamente proibidas consideram-se
implicitamente permitidas.
importante se observar que podemos utilizar o vocbulo lei em dois
sentidos. Em sentido formal, lei todo ato emanado do Poder Legislativo, no uso de
sua competncia constitucional, qualquer que seja seu contedo. Em sentido
material, lei todo conjunto de normas, ou seja, atos gerais (aplicveis a um nmero
indefinido e indefinvel de pessoas) e abstratos (aplicveis a um nmero indeterminado
e indeterminvel de situaes futuras), qualquer que seja o rgo ou Poder do qual
eles emanem e seu nvel hierrquico. Um decreto, ato inferior lei em sentido formal,
desde que aplicvel a todos os indivduos cuja conduta se enquadre na situao
abstrata nele prevista, ser lei em sentido material.
Uma lei em sentido formal, porque emanada do Poler Legislativo, nos termos da
Constituio, poder ser tambm uma lei em sentido material, quando veicular normas
(disposies gerais e abstratas), ou no, quando incidir sobre situaes e destinatrios
especificados. O Princpio da Legalidade reporta-se num primeiro momento e
principalmente, s leis em sentido formal e material, ou seja, aos atos que tem forma
e contedo de lei. H alguns entendimentos de que ele alcana as leis em sentido
material, que no em sentido formal, como os decretos e demais atos normativos
editados pela Administrao. At podemos considerar correta esta posio, desde que
vislumbremos que este ato, que constitui lei apenas em sentido material, tem que ser
editado a partir de um ato que simultaneamente lei em sentido formal (porque
editado pelo Poder Legislativo) e material (porque consiste num conjunto de normas
gerais e abstratas)
Algumas vozes levantam-se contra a rigidez do princpio da legalidade
quando dirigido Administrao Pblica, por considerar que em inmeras
situaes tal rigidez pode redundar em desatendimento ao interesse pblico,
por impedir a atuao administrativa se inexistente lei, mesmo quando
presentes fundadas razes que legitimassem a soluo oposta, adotada em
outros Estados. O porqu dessa severidade nos explicado pelo Professor
Bandeira de Mello, nos seguintes termos:
Para avaliar corretamente o princpio da legalidade e captar-lhe o sentido
profundo cumpre atentar para o fato de que ele a traduo jurdica de um propsito
poltico: o de submeter os exercentes do poder em concreto o administrativo a um
quadro normativo que embargue favoritivismos, perseguies ou desmandos.
Pretende-se atravs da norma legal, abstrata por isso mesmo impessoal, a lei,
editada, pois, pelo Poder Legislativo que o colgio representativo de todas as
tendncias (inclusive as minoritrias) do corpo social -, garantir que a atuao do
Executivo nada mais seja seno a concretizao dessa vontade geral.
A integral vigncia do princpio da legalidade excepcionada em algumas
hipteses previstas na Constituio, quando se permite ao presidente da Repblica a
edio de decretos autnomos, ou seja, atos normativos que inovam na ordem
jurdica. Trataremos delas ao estudamos o poder regulamentar.
Nos estados de defesa e de stio tambm h autorizao constitucional para que
seja excepcionado o princpio da legalidade.
4. PRINCPIO DA MORALIDADE
Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, o princpio da moralidade torna
jurdica a exigncia de atuao tica dos agentes da Administrao. A denominada
moral administrativa difere da moral comum, justamente por ser jurdica e pela
possibilidade de invalidao de atos administrativos que sejam praticados com
inobservncia deste princpio. Segundo uma formulao j consagrada, incorporada
inclusive ao Cdigo de tica do Servidor Pblico Civil Federal (Decreto n
o
1.171/1994), o servidor deve decidir no somente entre o legal e o ilegal, o justo e o
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas
principalmente entre o honesto e o desonesto.
Segundo tal princpio, a observncia pelo agente pblico do princpio da legalidade
no suficiente para assegurar a juridicidade de sua conduta, fazendo-se
indispensvel tambm que ele atue em conformidade com os valores inscritos na
norma.
O princpio tambm significa que o agente deve proceder de acordo com a moral
administrativa, que o conjunto de regras de conduta retiradas do prprio ambiente
institucional, dos costumes que se originam da prtica administrativa.
O princpio deve ser observado tambm pelo particular, ao relacionar-se com a
Administrao.
A previso expressa do princpio da moralidade no caput do art. 37 da Constituio
afasta quaisquer dvidas sobre sua aplicao no mbito da Administrao Pblica. Em
verdade, a Constituio foi prdiga na contemplao desse princpio, a ele se
reportando em diversas oportunidades ao longo de seu texto.
Exemplo disso o art. 5, LXXIII, da CF, segundo o qual qualquer cidado
parte legtima para propor ao popular que vise a anular ato lesivo ao patrimnio
pblico ou entidade de que o Estado participe, moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimnio histrico e cultural....
Enfim, resta claro que o princpio da moralidade tem o imenso valor de exigir do
agente pblico uma atuao pautada no apenas pela observncia dos aspectos
tcnicos da norma, mas sobretudo pelos valores nela consagrados, sob pena de
nulidade do ato administrativo por ele praticado, mesmo que formalmente perfeito.
5. PRINCPIO DA IMPESSOALIDADE
Segundo o Professor Hely Lopes Meirelles, o princpio da impessoalidade,
referido na Constituio de 1988 (art. 37, caput), nada mais que o clssico princpio
da finalidade, o qual impe ao administrador pblico que s pratique o ato para o seu
fim legal. E o fim legal unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou
virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal.
Prossegue o professor, acrescentando que esse princpio tambm deve ser
entendido para excluir a promoo pessoal de autoridades ou servidores pblicos sobre
suas realizaes administrativas (CF, art. 37, 1).
A partir dos apontamentos do eminente autor, podemos concluir que o princpio
da impessoalidade pode ser compreendido em dois sentidos: com relao aos
administrados e com relao prpria Administrao.
No primeiro sentido o princpio relaciona-se com a finalidade pblica, que deve
dirigir toda a atividade administrativa. Tal finalidade vem expressa explcita ou
implicitamente na lei, e impede que o agente pblico pratique um ato visando a
qualquer finalidade diversa daquela na norma indicada, mesmo que a pretexto de
satisfazer um interesse legtimo da Administrao ou do administrado. Com relao
finalidade a atividade administrativa sempre estritamente vinculada aos termos da
lei, no cabendo qualquer discricionariedade ao agente pblico nesse aspecto. Ainda, o
princpio alberga a idia de que a Administrao tem que tratar todos os administrados
sem discriminaes, favorveis ou prejudiciais, devendo pautar sua conduta pelo
princpio da isonomia.
No significa que o agente esteja impedido de praticar um ato que beneficie ou
prejudique um interesse particular, gerando consequncias para um indivduo
nominalmente identificado, ou um grupo de indivduos. Ele obviamente poder se
conduzir dessa forma, desde que exista previso legal nesse sentido. O que se veda
em termos absolutos a prtica de atos com finalidade diversa da prescrita na lei,
bem como o estabelecimento de critrios pela lei que no se conformem qualquer
finalidade legtima, consistindo to somente em discriminaes benficas ou
prejudiciais a determinadas pessoas, individual ou coletivamente consideradas.
Costuma-se afirmar que o princpio da impessoalidade (ou princpio da
finalidade, nesta acepo) decorre do princpio da legalidade, uma vez que a lei que
determina o fim da atuao do agente pblico no uso de determinada competncia. O
Professor Bandeira de Mello aprofunda esse entendimento, com a seguinte assertiva:
O fim da lei o mesmo que seu esprito e o fim da lei parte da lei mesma.
Em rigor, o princpio da finalidade no uma decorrncia do princpio da legalidade.
mais do que isto: uma inerncia dele; est nele contido, pois corresponde aplicao
da lei tal qual ; ou seja, na conformidade de sua razo de ser, do objetivo em vista da
qual foi editada.
Aplicao do princpio da impessoalidade enquanto princpio da finalidade
encontra-se, por exemplo, no art. 100 da CF, que impe o pagamento dos dbitos
reconhecidos judicialmente pelo sistema de precatrios, na estrita ordem cronolgica
de sua apresentao, ressalvados os casos previstos no dispositivo, vedando-se a
designao de pessoas ou situaes especficas nas dotaes oramentrias e
nos crditos adicionais abertos para esse fim. A exigncia de concurso pblico como
requisito indispensvel para a investidura de cargo ou emprego pblico de provimento
efetivo, a vedao do nepotismo, so outros exemplos que podem aqui ser citados.
Com relao Administrao, significa o princpio da impessoalidade que os atos
praticados pelos agentes pblicos devem ser considerados como realizados no pelo
prprio agente, mas pela entidade ou rgo o qual ele integra. sempre o
rgo ou entidade o autor do ato, jamais o agente, que ao agir no desempenho de
suas funes o faz em nome deles. Como pondera o Professor Vicente Paulo, observa-
se que o outro desdobramento do princpio da impessoalidade tem por escopo proibir a
vinculao de atividades da Administrao pessoa dos administradores, evitando que
estes utilizem a propaganda oficial para sua promoo pessoal.
Entenda-se bem: no se veda que o agente pblico identifique-se ao praticar um
ato administrativo, e no se afasta a possibilidade de ser ele pessoalmente
responsabilizado quando por dolo ou culpa causar prejuzo Administraao ou a
terceiros. Apenas se considera que o agente, ao atuar no desempenho de suas
atribuies, tem a autoria de seus atos imputada no a ele, individualmente, mas
Administrao, probindo-se, a partir disto, que o agente promova-se pessoalmente s
custas do ato praticado.
A Constituio, em seu art. 37, 1, consagra tal entendimento nos seguintes
termos:
1 A publicidade dos atos, programas, obras, servios e campanhas dos rgos
pblicos dever ter carter educativo, informativo ou de orientao social, dela no
podendo constar nomes, smbolos ou imagens que caracterizem promoo pessoal de
autoridades ou servidores pblicos.
Uma obra promovida pela Administrao estadual, por exemplo, jamais poder ser
atribuda ao Governador do Estado Fulano de Tal, mas somente prpria
Administrao, em termos genricos.
O princpio da impessoalidade compreendido nessa segunda acepo explica o
chamado exerccio de fato, pelo qual confere-se validade aos atos praticados por
servidor irregularmente investido, sob o fundamento de que tais atos na verdade no
so de sua autoria, mas do rgo ou entidade em nome do qual ele os praticou.
6. PRINCPIO DA PUBLICIDADE
A exemplo do princpio da impessoalidade, o princpio da publicidade tambm
pode ser compreendido em duas acepes.
Num primeiro vislumbre, deve-se considerar tal princpio como relacionado
necessidade de publicao oficial dos atos administrativos gerais que produzam
efeitos externos Administrao, atingindo os administrados.
A exigncia de publicao no constitui, na verdade, requisito de
validade dos atos administrativos de efeitos externos, mas pressuposto de sua
eficcia. Em outras palavras, um ato vlido mesmo que no tenha sido
providenciada sua publicao, mas somente a partir desta o ato adquirir
eficcia jurdica, passando a produzir os efeitos que lhe so prprios.
Os atos administrativos federais, estaduais e os do Distrito Federal consideram-
se oficialmente publicados quando divulgados nos seus respectivos Dirios Oficiais; e
os municipais quando publicados em seus Dirios Oficiais ou afixados na sede da
Prefeitura ou da Cmara de Vereadores, quanto aos Municpios que no possuem
veculo oficial de publicao de seus atos.
O princpio no significa que todo e qualquer ato de feitos externos deva ser
necessariamente divulgado pela imprensa oficial. Os atos que tm destinatrios certos
em regra so a eles cientificados pessoalmente, no cabendo neste caso, em linhas
gerais, falar-se em publicao oficial, salvo quando ela feita em substituio
cientificao pessoal, nos casos previstos em lei.
Numa segunda acepo vincula-se o princpio da publicidade obrigatoriedade
de transparncia da atividade da Administrao Pblica, requisito indispensvel para
seu efetivo controle por parte dos administrados. Nesse sentido, dispe o inc. XXXIII
do art. 5 da CF:
Todos tem direito a receber dos rgos pblicos informaes de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que sero prestadas no prazo da
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindvel segurana da sociedade ou do Estado.
Complementando esse direito dos administrados informao, o inc. XXXIV do art.
5 assegura a obteno de certides em reparties pblicas, para defesa de direitos
e esclarecimento de situaes de interesse pessoal.
7. PRINCPIO DA EFICINCIA
A Emenda n 19/98 alou ao plano constitucional algumas das diretrizes presentes
no Plano Diretor de Reforma do Estado, elaborado em 1995. Entre as alteraes
promovidas no texto constitucional, encontra-se a insero no caput do art. 37 do
princpio da eficincia, denominado de qualidade do servio prestado no projeto de
emenda.
Tal princpio liga-se diretamente administrao gerencial, alcanando tanto os
servios administrativos prestados diretamente coletividade como os servios
internos dos rgos e entidades administrativos. Pode-se consider-lo sob dois
enfoques, a partir da lio da Professora Maria Sylvia di Pietro: quanto forma de
estruturao e organizao dos rgos e entidades administrativos, que deve ser
concebida com vistas obteno dos melhores resultados na prestao do servio, de
um ponto de vista pragmtico; e com relao forma de atuao do agente pblico, a
qual deve ser eficaz, tanto de um ponto de vista qualitativo como quantitativo.
Ateno especial deve ser conferida aplicabilidade desse princpio, em funo da
eminente possibilidade de seu confronto com o princpio da legalidade em dada
situao. Surgiro situaes nas quais o agente pblico, para atuar mais
eficientemente, teria que contrariar um dispositivo legal; da mesma forma, em certos
casos, em prol de uma prestao mais efetiva, poderia pretender o administrador
estruturar o servio de uma forma distinta disposta em lei.
Em qualquer desses casos, apesar de almejarem ao interesse pblico, estaro
impedidos o agente pblico, no primeiro caso, e o administrador, no segundo, de se
conduzirem em desconformidade com os mandamentos legais. O princpio da
legalidade est inscrito na prpria matriz do Estado de Direito, e sua subverso leva
derrocata de outro princpio basilar no sistema jurdico-constitucional ptrio: a
segurana jurdica. A lei e atos normativos a elas equiparados estabelecem tanto o
fundamento como a finalidade da atuao do agente pblico, que no poder portar-se
de forma diversa daquela neles descrita, nem mesmo a pretexto de obter um melhor
resultado na prestao dos servios pblicos.
Mais uma vez valendo-nos dos ensinamentos da professora Maria Sylvia di Pietro,
diz a consagrada autora que a eficincia princpio que se soma aos demais princpios
impostos pela Administrao, no podendo sobrepor-se a nenhum deles,
especialmente ao da legalidade, sob pena de srios riscos segurana jurdica e ao
prprio Estado de Direito.
O princpio da eficincia relaciona-se intimamente com a economicidade, pela qual
se visa obteno de uma adequada prestao de servios com o mnimo de
dispndio, a fim de se obter uma evoluo na relao custo/benefcio dos servios a
cargo da Administrao. em funo disso que comumente se afirma estar ele
relacionado com a denominada administrao gerencial.
Como nos informam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, o princpio implica uma
atenuao da posio tradicional acatada pelos nossos Tribunais, que no admitem a
anlise judicial dos atos discricionrios sob a tica de sua convenincia, oportunidade e
eficincia. Ao menos no que tange a este ltimo aspecto, devemos considerar que, a
partir da insero do Princpio da Eficincia no texto constitucional, tal orientao
dever ser revista.
A sua abrangncia e aplicabilidade realada pelos citados autores nos seguintes
termos:
Eficincia tem como corolrio a boa qualidade. A partir da positivao deste
princpio como norte da atividade administrativa, a sociedade passa a dispor de base
jurdica expressa para cobrar a efetividade do exerccio de direitos sociais como a
educao, a sade e outros, os quais tm que ser garantidos pelo Estado com
qualidade ao menos satisfatria. Pelo mesmo motivo, o cidado passa a ter o direito de
questionar a qualidade das obras e atividades pblicas, exercidas diretamente pelo
Estado ou por seus delegatrios.
8. OS PRINCPIOS IMPLCITOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
O Princpio da Razoabilidade e o da Proporcionalidade no tm previso expressa
em nosso ordenamento jurdico, sendo fruto de construo doutrinria e
jurisprudencial. Tais princpios tm lugar no contexto de uma relao meio-fim, frente
a uma situao concreta ocorrida no seio da Administrao Pblica, e aplicam-se
precipuamente na aferio da legitimidade de atos discricionrios que
impliquem limitao ou condicionamento a direitos dos administrados ou
imposio de sanes. So unanimemente considerados as mais severas limitaes
competncia discricionria da Administrao, e possibilitam ao Judicirio a anulao
dos atos que as afrontem, a partir de um juzo determinado com base no chamado
critrio do homem mdio.
Sobre o assunto, pedimos licena para transcrever, na ntegra, a magistral lio
dos Professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino:
Como se infere do ttulo deste tpico, os princpios da razoabilidade e da
proporcionalidade no se encontram expressos no texto constitucional. So eles, em
verdade, princpios gerais de Direito, aplicveis a praticamente todos os ramos da
cincia jurdica.
Embora sejam princpios implcitos, o Supremo Tribunal Federal, em diversos
julgados, tem apontado como sede material desses princpios o princpio do devido
processo legal (CF, art. 5
o
, LIV), ou seja, os princpios da razoabilidade e da
proporcionalidade derivam do princpio do devido processo legal, que um princpio
expresso. Os princpios da razoabilidade e da proporcionalidade vm sendo
freqentemente utilizados pelo STF no controle de constitucionalidade de leis.
No mbito do Direito Administrativo, os princpios da razoabilidade e da
proporcionalidade encontram aplicao especialmente no que concerne prtica de
atos discricionrios que impliquem restrio ou condicionamento a direitos dos
administrados ou imposio de sanes administrativas.
diante de situaes concretas, sempre no contexto de uma relao meio-fim,
que deve ser aferido o critrio da razoabilidade, cabendo ao Poder Judicirio apreciar
se as restries so adequadas e justificadas pelo interesse pblico: se o ato implicar
limitaes inadequadas, desnecessrias ou desproporcionais (no razoveis) dever
ser anulado.
A doutrina e a jurisprudncia modernas enfatizam a limitao ao poder
discricionrio da Administrao, a fim de possibilitar um maior controle judicial dos
atos administrativos. Essa imposio de limites ao poder discricionrio visa a evitar o
indevido uso da discricionariedade administrativa, como manto protetor de atos que,
embora praticados sob o fundamento da discricionariedade, revestem-se, em verdade,
de arbitrariedade.
Nesse aspecto que assumem relevncia os princpios implcitos da razoabilidade
e da proporcionalidade, apontados pela doutrina, sem exceo, como as maiores
limitaes impostas ao poder discricionrio da Administrao. Por meio desses
princpios, impem-se limitaes discricionariedade administrativa, ampliando-se os
aspectos de controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judicirio.
O princpio da razoabilidade conduz s idias de adequao e de necessidade.
Assim, no basta que o ato da Administrao tenha uma finalidade legtima.
necessrio que os meios empregados pela Administrao sejam adequados
consecuo do fim almejado e que sua utilizao, especialmente quando se trata de
medidas restritivas ou punitivas, seja realmente necessria.
Assim, o requisito adequao obriga o administrador a perquirir se o ato por ele
praticado mostra-se efetivamente apto a atingir os objetivos pretendidos (alcanar o
ato os resultados almejados?).
J o requisito necessidade preocupa-se com a exigibilidade ou no da adoo das
medidas restritivas: ser que no haveria um meio menos gravoso sociedade e
igualmente eficaz na consecuo dos objetivos visados (no est desmedida,
excessiva, desnecessria, desproporcional, a medida adotada? Os mesmos fins no
poderiam ser alcanados com medida mais prudente, mais branda, menos restritiva?).
Em sntese, sempre que a autoridade administrativa tiver sua disposio mais de um
meio para a consecuo do mesmo fim dever utilizar aquele que se mostre menos
gravoso aos administrados.
Como se v, o princpio da razoabilidade (citado por alguns autores como princpio
da proibio de excesso) tem por fim aferir a compatibilidade entre os meios e os fins
de um ato administrativo, de modo a evitar restries desnecessrias, arbitrrias ou
abusivas por parte da Administrao Pblica. Trata-se da aferio da adequao da
conduta escolhida pelo agente pblico finalidade que a lei expressa.
A razoabilidade, assim, termina por funcionar como uma limitao
discricionariedade incidente sobre os elementos motivo e objeto, por exigir um
comportamento adequado, compatvel e proporcional do administrador pblico, bem
assim que o ato resultante se conforme fielmente finalidade pblica.
O eminente Prof. Celso Antnio Bandeira de Mello, em sua clssica obra Curso de
Direito Administrativo, estabelece brilhantemente os contornos da razoabilidade e da
proporcionalidade no mbito do Direito Administrativo.
Para o Autor, significa o princpio da razoabilidade que a Administrao, ao atuar
no exerccio de discrio, ter que obedecer a critrios aceitveis do ponto de vista
racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das
finalidades que presidiram a outorga da competncia exercida. Vale dizer: pretende-se
colocar em claro que no sero apenas inconvenientes, mas tambm ilegtimas e,
portanto, jurisdicionalmente invalidveis , as condutas desarrazoadas, bizarras,
incoerentes ou praticadas com desconsiderao s situaes e circunstncias que
seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudncia, sensatez e
disposio de acatamento s finalidades da lei atributiva da discrio manejada.
O princpio da proporcionalidade representa, em verdade, uma das vertentes
do princpio da razoabilidade. Isso porque a razoabilidade exige, entre outros aspectos,
que haja proporcionalidade entre os meios utilizados pelo administrador pblico e os
fins que ele pretende alcanar. Se o ato administrativo no guarda uma proporo
adequada entre os meios empregados e o fim almejado, ser um ato desproporcional,
excessivo em relao a essa finalidade visada.
Segundo o princpio da proporcionalidade, a Administrao no deve restringir os
direitos do particular alm do que caberia, do que seria necessrio, pois impor medidas
com intensidade ou extenso suprfluas, desnecessrias, induz ilegalidade do ato,
por abuso de poder. Esse princpio fundamenta-se na idia de que ningum est
obrigado a suportar restries em sua liberdade ou propriedade que no sejam
indispensveis, imprescindveis satisfao do interesse pblico.
Formulemos um exemplo um tanto exagerado para tornar bem ntida a aplicao
desses princpios.
Imagine-se que um agente da Vigilncia Sanitria de um Municpio, em visita a um
grande supermercado, encontrasse em uma prateleira alguns pacotes de uma
determinada marca de biscoitos uns dois ou trs dias fora do prazo de validade. O
agente, ento, como sano administrativa, decreta a interdio do estabelecimento
por 15 dias. Uma lei do Municpio determina como possveis sanes para
estabelecimentos que ofeream populao alimentos inadequados ao consumo,
aplicveis a critrio da autoridade administrativa, conforme a gravidade e as
conseqncias da infrao, a aplicao de multa, a apreenso e destruio das
mercadorias imprprias e/ou a interdio do estabelecimento por at 15 dias.
Neste exemplo, fica claro que o meio utilizado pelo agente interdio do
estabelecimento desatendeu aos princpios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Embora a finalidade de sua atuao fosse a defesa do interesse pblico (proteo dos
consumidores), ele possusse competncia para decretar a interdio do
estabelecimento e supondo que houvesse atendido s formalidades legais para a
aplicao da sano, podemos dizer que houve inadequao do instrumento utilizado
para a obteno do fim visado. Alm disso, dentre as possibilidades de atuao que
poderiam apresentar o mesmo resultado, o agente escolheu aquela mais gravosa ao
particular e at coletividade. O agente poderia ter obtido a desejada proteo dos
consumidores simplesmente determinando a apreenso e a destruio dos biscoitos
vencidos e punindo o responsvel pelo supermercado com a aplicao de uma multa.
Verifica-se, ainda, que a sano aplicada no foi proporcional falta cometida.
Ora, se o agente aplicou a sano mais rigorosa prevista na lei pelo motivo citado, qual
seria a sano aplicvel a um supermercado em que muitos alimentos, incluindo
peixes, carnes, enlatados etc. estivessem francamente estragados, oferecendo muito
mais srios riscos aos consumidores? Teria que ser aplicada a mesma sano, uma vez
que a interdio do estabelecimento era a sano mais grave prevista na lei.
Portanto, em nosso exemplo, o ato administrativo de interdio do
estabelecimento poderia ser anulado pelo Poder Judicirio, em razo de no haver a
Administrao observado os princpios implcitos da razoabilidade (os meios utilizados
no foram adequados ao fim visado, causando mesmo mais transtornos do que
oferecendo segurana populao, e no havia necessidade da utilizao de um meio
to gravoso para a garantia da defesa dos consumidores) e da proporcionalidade (a
Administrao aplicou a mais rigorosa dentre as sanes legais para punir uma falta
relativamente leve).
Finalizando, desejamos registrar que, em alguns casos, o princpio da razoabilidade
tem autorizado uma certa flexibilizao na interpretao de outros princpios
constitucionais basilares, como o caso do princpio da isonomia ou da igualdade.
Condutas que, em princpio, poderiam ser vistas como violao ao princpio da
isonomia, por implicar discriminao entre indivduos, tm sido consideradas legtimas,
constitucionais pelos tribunais do Poder Judicirio, inclusive o Pretrio Excelso. Assim,
com fundamento no princpio implcito da razoabilidade, o Supremo Tribunal Federal
tem considerado legtimas certas discriminaes adotadas em concursos pblicos
(limite de idade, altura mnima, graduao especfica etc.), desde que haja
razoabilidade para o discrmen.
9. PRINCPIO DA ISONOMIA
O princpio da igualdade ou isonomia pode ser compreendido em dois planos:
frente ao legislador (igualdade na lei), o qual se encontra proibido de instituir
tratamento normativo diferenciado a pessoas que se encontram em situaes
idnticas, salvo motivo razovel; e frente ao aplicador da norma (igualdade perante a
lei), que no pode, ao aplicar a norma jurdica a um caso concreto, estabelecer
distines sem respaldo legal, ou calcadas em motivos de sexo, religio, raa, classe
social ou posicionamento poltico ou ideolgico.
As distines s so admitidas a partir de uma perspectiva teolgica da norma.
Desta forma, critrios diferenciadores que num primeiro momento seriam
inconstitucionais por afronta ao princpio da isonomia adquirem legitimidade a partir da
percepo de que sua fixao se deu em funo dos objetivos, legtimos, que o ato
normativo busca.
Por exemplo quanto aos requisitos previstos em lei para a investidura em
determinado cargo pblico, sero eles condizentes com o princpio da igualdade
quando forem estabelecidos com base em parmetros objetivos e razoveis e
encontrarem justificao na natureza e atribuio inerentes ao cargo pblico. Se forem
institudos de forma desarrazoada, ou no tiverem vinculao com as necessidades do
cargo, sero inconstitucionais.
Aplicando-se o princpio nesse caso, a imposio legal de limites de idade e
altura para o cargo de auxiliar administrativo de algum Ministrio ser inconstitucional,
j que no tem qualquer relao com as atribuies do cargo; se a mesma restrio
disser respeito, entretanto, ao cargo de agente de polcia, encontrar ela respaldo no
princpio da razoabilidade, por fora das peculiaridades do cargo. Nessa hiptese
entende-se no ocorrer violao ao princpio da isonomia.
10. PRINCPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PBLICO
O princpio da supremacia do interesse pblico sobre o privado, a exemplo dos
princpios da razoabilidade e da proporcionalidade, no objeto de qualquer norma
expressa. Na verdade, tal previso seria suprflua, visto que tal princpio decorrncia
lgica da posio de supremacia do Estado frente aos particulares, em vista dos
interesses superiores que aquele busca satisfazer.
Obviamente, esta posio de supremacia do Estado frente ao indivduo deve ser
compreendida nos seus devidos termos. Num primeiro momento, cabe frisar a
necessidade de conformao da atuao estatal, por meio da Administrao Pblica, ao
princpio da finalidade, pois a prevalncia do Estado, como j afirmado, advm da
superioridade dos interesses que este busca satisfazer, e s tem lugar enquanto tal
intento for a sua razo de agir.
Num segundo momento, cumpre notar que nosso ordenamento constitucional
contempla diversos princpios de observncia cogente para a Administrao, devendo
todos ser aplicados sob uma perspectiva sistemtica. Assim, por exemplo, eivada de
vcios, e portanto nula, ser a atuao do agente pblico que, sob a alegao de que o
interesse pblico prepondera sobre o particular, estabelea restries de forma
desarrazoada ou sem a observncia dos princpios do devido processo legal ou do
contraditrio e da ampla defesa. O princpio em questo efetivamente assegura a
prevalncia dos interesses coletivos sobre os particulares, mas respeitados todos os
demais princpios norteadores da funo administrativa.
Dele originam-se as prerrogativas administrativas, entre as quais podemos
citar:
1) a possibilidade de a Administrao criar obrigaes para o administrado por ato
unilateral;
2) a previso das clusulas exorbitantes nos contratos administrativos, as quais
permitem Administrao rescindir ou alterar unilateralmente os termos inicialmente
acordados ou impor por ato prprio sanes ao contratado faltoso, entre outras
faculdades especiais a ela conferidas com exclusividade;
3) as diversas formas de interveno do Estado na propriedade privada, a exemplo da
desapropriao, da servido administrativa e do tombamento.
11. PRINCPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PBLICO
A Administrao busca a satisfao do interesse pblico e gerencia os bens e
servios necessrios para tanto, mas no tem sobre eles poder de disposio, pois eles
no lhe pertencem, mas sim coletividade como um todo.
Dessa forma, so proibidas Administrao quaisquer condutas que
caracterizem renncia de direitos ou criao de obrigaes sem justificativa legtima e
embasamento legal adequado, ou a utilizao de recursos pblicos de forma diversa da
prescrita em lei. Da mesma forma, so-lhe vedadas quaisquer condutas que no visem
ao interesse pblico eleito na norma.
Segundo Bandeira de Mello, a indisponibilidade dos interesses pblicos significa
que, sendo interesses qualificados como prprios da coletividade internos ao setor
pblico -, no se encontram livre disposio de quem quer que seja, por
inapropriveis. O prprio rgo administrativo que os representa no tem
disponibilidade sobre eles, no sentido que lhe incumbe apenas cur-los o que
tambm um dever na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis.
Enfim, o princpio da indisponibibilidade do interesse pblico,em breve sntese,
significa que a Administrao age legitimamente apenas quando se utiliza dos bens e
servios pblicos na forma posta na lei, para atingir as finalidades tambm na norma
estabelecidas.
12. PRINCPIO DA AUTOTUTELA
Como comentamos anteriormente, vigora no Brasil o sistema de jurisdio
nica, insculpido no art. 5, XXXV, da CF, pelo qual detm o Poder Judicirio
competncia para decidir com fora de definitividade quaisquer litgios trazidos sua
apreciao, inclusive os de carter administrativo.
Em complemento a esse sistema existe o poder-dever de a prpria
Administrao exercer o controle de seus atos, no que se denomina autotutela
administrativa ou princpio da autotutela. No exerccio deste poder-dever a
Administrao, atuando por provocao do particular ou de ofcio, reaprecia os atos
produzidos em seu mbito, anlise esta que pode incidir sobre a legalidade do ato ou
quanto ao seu mrito.
Na primeira hiptese anlise do ato quanto sua legalidade -, a deciso
administrativa pode ser no sentido de sua conformidade com a ordem jurdica, caso
em que ser o ato ter confirmada sua validade; ou pela sua desconformidade, caso
em que o ato ser anulado.
Na segunda hiptese anlise do ato quanto ao seu mrito -, poder a
Administrao decidir que o ato permanece conveniente e oportuno com relao ao
interesse pblico, caso em que permanecer eficaz; ou que o ato no se mostra mais
conveniente e oportuno, caso em que ser ele revogado pela Administrao.
Percebe-se que a autotutela administrativa mais ampla que a jurisdicional em
dois aspectos. Em primeiro lugar, pela possibilidade de a Administrao reapreciar
seus atos de ofcio, sem necessidade de provocao do particular, ao contrrio do
Judicirio, cuja atuao pressupe necessariamente tal manifestao (princpio da
inrcia); por segundo, em funo dos aspectos do ato que podem ser revistos, j que a
Administrao poder reanlis-los quanto sua legalidade e ao seu mrito, ao passo
que o Judicirio s pode apreciar, em linhas gerais, a legalidade do ato administrativo.
O princpio da autotutela sempre foi observado no seio da Administrao
Pblica, e est contemplado na Smula n 473 do STF, vazada nos seguintes termos:
A Administrao pode anular seus prprios atos quando eivados de vcios que os
tornem ilegais, porque deles no se originam direitos; ou revog-los, por motivo de
convenincia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
qualquer caso, a apreciao judicial.
13. PRINCPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIOS PBLICOS
Os servios pblicos tm carter essencial e destinam-se a toda a coletividade.
Desta forma, devem ser prestados de forma contnua, sem interrupes.
Para assegurar a observncia deste princpio existem disposies especficas
dificultando, quando no extinguindo, a possibilidade de paralisao dos servios
pblicos, sejam aqueles prestados diretamente pela Administrao, sejam aqueles por
ela delegados a terceiros.
Quanto aos servidores pblicos, a regra encontra-se no art. 37, VII, da CF, que
condiciona seu direito de greve edio de lei especfica. Tal lei at hoje no foi
produzida, entendendo o STF que, enquanto permanecer esse vazio normativo, ilegal
a greve de servidores pblicos. O posicionamento da Corte permite Administrao
adotar as providncias cabveis contra os servidores que decidirem paralisar seus
servios, entre as quais o corte de ponto.
Quanto aos prestadores de servios pblicos por concesso ou permisso, ou
seja, os delegatrios de servios pblicos, no lhes permitido paralisar suas
atividades durante o tempo de durao do contrato, nem mesmo sob o fundamento de
que est a Administrao descumprindo os termos do acordo, sendo tal impedimento a
eles imposto denominado inoponibilidade da exceo do contrato no cumprido
(exceptio non adimpleti contractus).
Aos particulares que firmam contratos administrativos em regra permitido,
aps determinado perodo de inadimplncia da Administrao, decidir pela suspenso
do cumprimento das obrigaes pactuadas. No caso dos prestadores de servios
pblicos a disciplina nesta situao diferente: necessitam de uma deciso judicial,
transitada em julgado, que reconhea a falta da Administrao, sem a qual no lhes
autorizado paralisar a execuo do servio.
14. PRINCPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
O princpio encontra-se previsto no art. 5, LIV, da Constituio, nos seguintes
termos:
LIV ningum ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
Significa o princpio que a Administrao s pode produzir validamente um ato
que de qualquer forma atinja interesse de administrado se obedecer s prescries de
ordem formal a ele pertinentes. O professor Bandeira de Mello nos oferece a seguinte
lio:
Tal enquadramento da conduta estatal em pautas balizadoras, como se disse e
universalmente sabido, concerne tanto a aspectos materiais pelo atrelamento do
Estado a certos fins antecipadamente propostos como os validamente perseguveis
quanto a aspectos formais, ou seja, relativos ao preestabelecimento dos meios eleitos
como as vias idneas a serem percorridas para que, atravs delas e somente atravs
delas - possa o Poder Pblico exprimir suas decises. Estes ltimos dizem com a prvia
definio dos processos que canalizaro as manifestaes estatais.
15. PRINCPIOS DO CONTRADITRIO E DA AMPLA DEFESA
O princpio do contraditrio e da ampla defesa de simples entendimento:
assegura-se s partes, no mbito de um processo judicial ou administrativo, a
oportunidade de atuarem no sentido de verem satisfeita sua pretenso, atravs do
conhecimento das alegaes da parte contrria e a possibilidade de a elas se
contrapor (contraditrio), utilizando-se para tanto de todos os meios juridicamente
vlidos (ampla defesa).
A CF, em seu art. 5, inc. LV, afirma o cabimento deste princpio tambm na
esfera administrativa. O que poder eventualmente ocorrer a adoo pela
Administrao de medidas constritivas urgentes sem prvia oitiva do prejudicado, que
ter oportunidade de se manifestar somente aps sua execuo. Nesse caso haver
um diferimento do contraditrio.
16. PRINCPIO DA MOTIVAO
Tal princpio implica para a Administrao o dever de apontar os fundamentos
de fato e de direito que justificaram a produo de um ato administrativo, bem como a
correlao lgica entre a situao apresentada ao agente e a medida em funo dela
adotada, quando tal aclaramento fizer-se necessrio para se verificar a regularidade da
conduta administrativa.
A motivao, em regra, no exige forma especfica, e pode em muitos casos ser
feita por rgo diverso daquele que praticou o ato. comum a motivao de um ato
administrativo com relatrios ou pareceres a respeito do assunto emitidos por rgo
diverso, hiptese em que eles sero considerados partes integrantes do ato.
17. PRINCPIO DA SEGURANA JURDICA
Tal princpio, que ultrapassa as fronteiras do Direito Administrativo, consistindo na
verdade em um princpio geral do direito, tem por funo assegurar estabilidade s
situaes jurdicas j consolidadas frente inevitvel evoluo do Direito, tanto a nvel
legislativo como interpretativo. Algumas aplicaes desse princpio so a proteo ao
direito adquirido e coisa julgada, o instituto da precluso e a vedao aplicao
retroativa de nova interpretao de norma administrativa.
Em termos latos, ele objetiva proporcionar um mnimo de tranquilidade aos
indivduos em geral, assegurando-lhes, nas suas mais diversas aplicaes, que eles
no venham a ser surpreendidos, e na maioria das vezes prejudicados, por alteraes
incidentes sobre relaes jurdicas j estabilizadas.
18. PRINCPIO DA ESPECIALIDADE
O Estado pode descentralizar a prestao de seus servios por meio da criao
de entidades administrativas, que no seu conjunto formam a Administrao Indireta.
Tais entidades tm estabelecidas na lei que as criou ou autorizou sua criao as
finalidades que lhe incumbem atender.
O princpio em questo veda que essas entidades atuem com fins outros que
no aqueles legalmente determinados, sob pena de nulidade do ato infracional e
punio dos responsveis pelo seu desvio de atuao.
O princpio em questo foi elaborado inicialmente para as autarquias, uma das
espcies de entidades da Administratao Indireta, mas modernamente aplicvel na
mesma amplitude a todas as pessoas administrativas, embora algumas bancas de
concurso adotem um entendimento de que ele incide mais diretamente sobre as
autarquias, posio que no perfilhamos.
19. PRINCPIO DA TUTELA
Nas palavras de Di Pietro, para assegurar que as entidades da Administrao
Indireta observem o princpio da especialidade, elaborou-se outro princpio: o do
controle ou tutela, em consonncia com o qual A Administrao Pblica direta
fiscaliza as atividades dos referidos entes, com o objetivo de garantir a observncia de
suas finalidades institucionais. Colocam-se, em confronto, de um lado, a
independncia da entidade, que goza de parcela de autonomia administrativa e
financeira, j que dispe de fins prprios, definidos em lei, e patrimnio tambm prrio
destinado a atingir aqueles fins; e, de outro, a necessidade de controle para que a
pessoa jurdica poltica (Unio, Estado ou Municpio) que instituiu a entidade da
Administrao Indireta se assegure que ela est agindo de conformidade com os fins
que justificaram sua criao.
A tutela visa, pois, assegurar que a entidade, no exerccio de sua autonomia
administrativa, atue em conformidade com as finalidades que presidiriram sua
instituio e as diretrizes fixadas pela Administrao Direta.
20. PRINCPIO DA OFICIALIDADE
Princpio pelo qual se autoriza Administrao a dar incio aos processos
administrativos por sua prpria iniciativa, independente de provocao do particular,
salvo quanto aos processos que s podem ser instaurados pela manifestao deste.
Uma vez iniciado o processo, deve a Administrao, da mesma forma, realizar
de ofcio os atos tendentes sua finalizao, mais uma vez ressalvados os atos que s
podem ser praticados pessoalmente pelo particular, os quais, se no realizados, no
acarretam a paralisao do processo, mas a continuidade de sua tramitao, a no ser
que a participao do particulare seja indispensvel, quando ento sua ausncia
causa da extino do processo.
QUESTES DE PROVAS ANTERIORES DO CESPE
PRINCPIOS ADMINISTRATIVOS
1. (AGENTE DA PF/2000) Considere a seguinte situao hipottica.
Augusto, agente de polcia federal, esteve lotado na superintendncia sediada em Belo
Horizonte- MG at o dia 2/7/2000, quando foi transferido, de ofcio, para o estado do
Acre. O delegado de polcia federal que determinou a transferncia justificou a prtica
do ato sob os argumentos de que havia imperiosa necessidade de deslocar um policial
para a regio da fronteira, bem assim que era discricionria a escolha do agente a ser
transferido. Entretanto, Augusto tinha provas documentais suficientes, demonstrando
que o delegado o transferira em retaliao ao fato de ele ter questionado a legalidade
de ordens emanadas daquele superior.
Nesse caso, o ato de transferncia seria invlido por desvio de finalidade, sendo que,
para impugnar o ato de transferncia, Augusto poderia valer-se de mandado de
segurana, mas no de habeas corpus.
2 (PAPILOSCOPISTA DA PF/2000) O presidente da Repblica pode, ao regulamentar
uma lei, estatuir todos os direitos e deveres necessrios ao cumprimento da lei
regulamentada, ainda que nela no tenham sido expressamente previstos.
(ASSISTENTE JURDICO DO DF/2001)
3 No princpio da impessoalidade, traduz-se a idia de que a administrao tem que
tratar todos os administrados sem discriminaes, benficas ou detrimentosas.
4 No princpio da legalidade, a administrao e seus agentes tm de atuar na
conformidade dos princpios ticos. Acresa-se que esse princpio vincula-se ao ncleo
semntico da probidade administrativa prevista na Constituio da Repblica.
5. O princpio da publicidade relaciona-se divulgao oficial do ato para conhecimento
pblico.
6 O princpio da impessoalidade da administrao deve refletir-se e concretizar-se,
tambm, no acesso a cargos pblicos por concurso pblico.
(PROCURADOR DA AGU/2001)
7 Marcos o governador de um estado-membro do Brasil e, por isso, tem o poder de
remover os servidores pblicos de uma localidade para outra, para melhor atender ao
interesse pblico. Um servidor do estado namorava a filha de Marcos, contrariamente a
sua vontade. A autoridade, desejando pr um fim ao romance, removeu o servidor
para localidade remota, onde, inclusive, no havia servio telefnico.
O princpio da impessoalidade da administrao reflete-se e se concretiza, tambm, na
reprovao de casos como o descrito, no qual h um desvio claro da funo pblica de
proteo do interesse do bem-comum.
8 O Estado e o administrado comparecem, em regra, em posio de igualdade nas
relaes jurdicas entre si.
9 Os princpios de direito administrativo constantes na Constituio da Repblica so
aplicveis aos trs nveis do governo da Federao.
(ESCRIVO DA PF/2002)
10. (Escrivo da PF/2002) Se a administrao pblica praticar ato que satisfaa a
interesse seu mas que desatenda ao fim especificamente previsto na lei autorizadora
do ato, ter havido ofensa ao princpio da finalidade, por ofensa desta.
11 (Advogado da Unio/Nov 2002) - No Brasil, no vigora o sistema do contencioso
administrativo, mas o da jurisdio una, de modo que toda e qualquer leso ou
ameaa de leso a direito individual, procedente de qualquer rgo da administrao
pblica, pode ser apreciada pelo Poder Judicirio.
12. (Juiz Substituto PE/2000) - Os princpios bsicos da administrao pblica esto
consubstanciados em quatro regras de observncia permanente e obrigatria para o
bom administrador: legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Acerca
desses princpios, assinale a opo correta.
(A) O princpio da legalidade impe administrao pblica a estrita observncia das
finalidades e competncias previstas na lei para a satisfao do interesse pblico;
no obstante, nem todos os aspectos da atividade administrativa esto contidos
nas leis em sentido estrito, de maneira que a administrao pode tambm agir de
maneira juridicamente vlida sem que determinado ato tenha sido especfica e
detalhadamente regido em lei ordinria.
(B) Devido prevalncia do princpio da legalidade, se determinado ato administrativo
atender aos contornos que a lei lhe estabeleceu, esse ato no poder ser invalidado
na via judicial to-somente pela alegao de que feriu a moral administrativa, por
esta se tratar de conceito indeterminado, que deve ceder ante o carter cogente da
lei positiva.
(C) O administrador pblico gere patrimnio e interesses que no so os seus, mas os
da coletividade; por isso, deve permanentemente buscar a satisfao do interesse
coletivo e no a do interesse privado, razo por que seus atos no devem atender
a interesses de cidados e empresas.
(D) Se a administrao pblica firmar contrato administrativo defeituoso porque
indevidamente prescindiu de licitao, a publicao do extrato do contrato na
imprensa oficial ter o efeito de fazer convalidar o negcio jurdico, como efeito da
publicidade que o poder pblico deu ao ato.
(E) A publicidade dos atos administrativos exige que o conhecimento pblico do ato se
d, necessariamente, pela imprensa oficial.
13. (Juiz Substituto TJ RN/1999) - As decises administrativas de um tribunal
caracterizam exerccio de funo.
(A) jurisdicional, podendo formar coisa julgada.
(B) jurisdicional, vinculando todos os rgos a ele subordinados, mas no formando
coisa julgada.
(C) jurisdicional, exigindo-se que sejam sempre motivadas
(D) administrativa, devendo ser tomadas pela maioria absoluta de seus membros se
de contedo disciplinar
(E) administrativa, no se sujeitando, todavia, aos princpios previstos
constitucionalmente para a Administrao Pblica.
14. (Analista Judicirio Execuo de Mandados TJDFT/2003) - A administrao
pblica inclui toda estrutura estatal cujo escopo seja, essencialmente, a realizao de
servios que garantam a satisfao das necessidades coletivas, exercendo atividades
normalmente vinculadas lei ou norma tcnica, organizada de maneira
hierarquizada, praticando atos de governo e atos de execuo, estes de autonomia
relativa, de acordo com as atribuies de cada rgo e seus agentes.
15 (Tcnico Judicirio rea Administrativa TRT 6 Regio/2002) - O princpio da
publicidade dos atos administrativos tem ntima correlao com o direito informao,
sendo o habeas data o instrumento processual adequado para a obteno de
informaes relativas aos processos de interesse pblico ou coletivo cuja divulgao
esteja sendo obstada.
16 (Juiz Substituto TJBA/2002) - A administrao pblica, como atividade regida pelo
direito, sujeita a regras e princpios, como os da moralidade, da legalidade e da
publicidade, entre outros; os princpios reitores da atividade administrativa pblica
podem decorrer da Constituio ou do ordenamento infraconstitucional e podem estar
previstos normativamente de maneira explcita ou podem encontrar- se implcitos na
ordem jurdica.
17 (Juiz Substituto TJBA/2002) - A correta observncia do princpio da legalidade no
mbito da administrao pblica consiste essencialmente na ausncia de oposio dos
atos administrativos lei.
18 (Advogado da unio/Nov 2002) Em face da realidade da administrao pblica
brasileira, juridicamente correto afirmar que o critrio adotado para a conceituao
do direito administrativo no pas o critrio do Poder Executivo.
19 (Advogado da unio/Nov 2002) No obstante o princpio da legalidade e o carter
formal dos atos da administrao pblica, muitos administrativistas aceitam a
existncia de fontes escritas e no- escritas para o direito administrativo, nelas
includas a doutrina e os costumes; a jurisprudncia tambm considerada por
administrativistas como fonte do direito administrativo, mas no juridicamente
correto chamar de jurisprudncia uma deciso judicial isolada.
Gabarito:
1. *
2. E
3. C
4. E
5. C
6. C
7. C
8. E
9. C
10. C
11. E
12. A
13. D
14. E
15. E
16. C
17. E
18. E
19. C
III. RGOS E AGENTES PBLICOS
1. RGOS PBLICOS
1.1. TEORIAS SOBRE A NATUREZA JURDICA DA RELAO ENTRE O
ESTADO E SEUS AGENTES
O Estado uma pessoa jurdica, um ente abstrato, e, como tal, no pode, por si
s, emitir declaraes de vontade. Em funo disso, atua ele por meio de pessoas
fsicas, cujas manifestaes representam a sua vontade. Tais pessoas fsicas so
denominadas agentes pblicos.
As teorias a seguir resumidamente descritas foram elaboradas com o objetivo de
justificar a atuao estatal por meio de agentes pblicos, como condio inafastvel
para se considerar que um ato, apesar de efetivamente praticado por uma pessoa
fsica, deve ter sua autoria atribuda ao Estado.
1.1.1. TEORIA DO MANDATO
Essa primeira teoria tenta transpor um instituto de direito privado, de origem
civilista, para a seara do direito pblico. Segundo ela, a relao entre o Estado e seus
agentes teria no contrato de mandato sua fundamentao jurdica.
Como ensina o Professor Vicente Paulo, mandato, para o Direito Privado, o
contrato mediante o qual uma pessoa, o mandante, outorga poderes a outra, o
mandatrio, para que este execute determinados atos em nome do mandante e sob a
responsabilidade deste. O instrumento do contrato de mandato a procurao.
Mediante tal contrato a pessoa fsica, quando e enquanto atuasse na condio de
agente pblico, seria mandatria do Estado, agindo em nome e sob a responsabilidade
deste, a quem seriam atribudas as consequncias do ato por ela praticado.
Essa teoria sofreu vrias crticas dos estudiosos, sendo a principal baseada no fato
de que ela no explica como o Estado, ente abstrato, sem vontade prpria, poderia
auto-outorgar-se mandatrios. O mandato um contrato, e como tal sua formao
pressupe a existncia de duas pessoas com vontade prpria, uma delegando
determinadas atribuies e a outra aquiescendo em realiz-las em nome da primeira.
Como o Estado no tem condies de, por si s, emitir manifestaes de vontade, no
teria como outorgar poderes para que algum o fizesse por ele, j que a prpria
outorga de poderes requer uma manifestao de vontade, logicamente impossvel de
ser realizada pelo ente estatal.
Ademais, essa teoria no soluciona a questo da possibilidade de responsabilizao
do Estado quando seu mandatrio ultrapassa os limites dos poderes a ele outorgados.
Se fossemos aplicar analogicamente as regras para esse instituto tal como delineadas
no direito privado, o Estado ficaria livre de qualquer responsabilidade perante terceiros
em virtude de excesso de poderes de seus mandatrios.
Em virtude dessas crticas, entre outras, a teoria do mandato atualmente posui
apenas valor histrico.
1.1.2. TEORIA DA REPRESENTAO
A teoria da representao equipara o agente pblico ao tutor ou curador de
incapazes, a quem incumbiria realizar em nome do Estado os atos que este precisa
praticar e no possui condies para faz-lo sem essa representao.
Essa teoria tambm foi rechaada pela doutrina, em virtude principalmente das
seguintes constataes a seu respeito:
1) equiparou o Estado ao incapaz, a exemplo do menor de idade ou do demente;
2) tal como a teoria do mandato, fracassa ao tentar explicar como um incapaz (no
caso, o Estado), que no tem capacidade para manifestar por ato prprio sua vontade,
pode conferir a terceiros poderes para faz-lo;
3) tambm no soluciona a questo da responsabilizao do Estado quando o
agente pblico ultrapassa os limites das suas atribuies.
1.1.3. TEORIA DO RGO
a teoria adotada entre ns. Tem por elemento-chave uma presuno, a
presuno de que o Estado atua por meio de seus rgos, partes componentes de sua
estrutura. Os agentes pblicos desenvolvem suas tarefas num desses rgos, de forma
que sua atividade , num primeiro momento, a eles imputada.
Como os rgos so apenas partes da estrutura do Estado, considera-se, por sua
vez, que sua atuao deve ser imputada ao Estado. Enfim, como os agentes atuam em
nome dos rgaos e estes em nome do Estado, presume-se que o agente, ao praticar
um ato, est, a final, manifestando a vontade do Estado. Observe-se que utilizamos a
palavra imputao para designar este fenmeno, e no representao, pois esta
expresso s tem lugar quando existem dois entes autnomos (o representante e o
representado); ao passo que aquela se baseia na idia de que em verdade h apenas
um ente (o Estado, pois o rgo em que est lotado o agente faz parte de sua
estrutura).
Essa teoria sobremaneira til para explicarmos a validade dos atos praticados
por funcionrios de fato (ou seja, que no so efetivamente agentes pblicos, em
virtude de vcio na sua investidura, ou que, apesar de regularmente investidos,
exorbitam de suas atribuies), a partir do entendimento de que o ato do funcionrio
na verdade ato do rgo e, portanto imputvel ao Estado, e no pessoa fsica que
o praticou. Dessa forma, se essa pessoa no est exercendo regularmente a funo
pblica com base na qual o ato foi praticado, ou se, apesar de ser efetivamente um
agente pblico, praticoa um ato para o qual no tem competncia, devem ser
respeitados os efeitos jurdicos dele decorrentes, desde que a situao em que o ato
foi praticado d a aparncia de regularidade e esteja o terceiro atingido por seus
efeitos de boa-f. Enfim, indispensvel que o ato aparentemente seja legtimo e
que o terceiro desconhea o vcio nele existente, do contrrio o Estado no pode ser
responsabilizado. a denominada teoria da aparncia.
Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino elucidam com preciso o ponto:
Assim, a pessoa que pratique o ato administrativo deve faz-lo em uma situao
tal que leve o cidado comum a presumir regular sua atuao. O cidado comum no
tem como verificar se o agente pblico est agindo dentro de sua esfera de
competncia, ou mesmo se aquela pessoa que se apresenta a ele com toda aparncia
de um servidor pblico efetivamente o . Alm disso, o destinatrio do ato deve estar
de boa-f, ou seja, deve desconhecer o fato de o ato ter sido praticado por pessoa
estranha aos quadros da Administrao. Por exemplo, se um usurpador de funo
pblica se encontra numa repartio em horrio de expediente normal, atrs do
balco, atendendo de forma aparentemente normal os administrados (que devero
estar de boa-f), seus atos podero acarretar responsabilidade para o Estado, que
deveria ter agido para evitar uma situao dessas.
1.2. CONCEITO DE RGO PBLICO
Di Pietro conceitua orgo pblico como uma unidade que congrega atribuies
exercidas pelos agentes pblicos que o integram com o objetivo de expressar a
vontade do Estado.
O Professor Hely Lopes Meirelles, por sua vez, define rgos como centros de
competncia institudos para o desempenho de funes estatais, atravs de seus
agentes, cuja atuao imputada pessoa jurdica a que pertencem.
Os rgos so elementos integrantes, partes da estrutura de uma determinada
pessoa jurdica. Apenas esta possui personalidade jurdica, no passando os rgos de
centros de competncia sem personalidade jurdica, cuja atividade, por meio dos
agentes nele lotados, imputada pessoa jurdica da qual so eles parte constitutiva.
Na Administrao Direta federal, apenas a Unio possui personalidade
jurdica. Os Ministrios, Secretrias e demais rgos administrativos so apenas
centros de competncia despersonalizados, cuja atuao imputada pessoa jurdica
que integram, ou seja, Unio. A nvel estadual, apenas o prprio Estado-membro
possui personalidade jurdica. O mesmo vale para as Administraes Diretas
municipais, em que somente o Municpio ente com personalidade jurdica. O mesmo
pode ser dito quanto ao Distrito Federal.
Nesse ponto, fundamental frisarmos a diferena entre rgo pblico e
entidade administrativa, ou simplesmente entidade. A Lei 9.784/99, que regula o
processo administrativo em mbito federal, diferencia as duas figuras jurdicas, ao
definir rgo como a unidade de atuao integrante da estrutura da Administrao
direta e da Administrao indireta, e entidade como unidade de atuao dotada de
personalidade jurdica.
rgos pblicos, portanto, como j afirmado, constituem meros centros de
competncia despersonalizados, partes componentes de uma pessoa jurdica da
Administrao Direta (Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios) ou da
Administrao Indireta (autarquias, fundaes pblicas, sociedades de economia mista
e empresas pblicas). Entidade, por sua vez, uma pessoa jurdica, logo, ente com
personalidade prpria. Embora no especificado no conceito legal, o conjunto de
entidades administrativas forma a Administrao Indireta.
1.3. CARACTERSTICAS DOS RGOS PBLICOS
Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino apresentam uma sntese das principais
caractersticas dos rgos pblicos, algumas no existentes em todos. Segundo os
autores, as caractersticas so as seguintes:
a) integram a estrutura de uma pessoa jurdica;
b) no possuem personalidade jurdica;
c) so resultado da desconcentrao;
d) alguns possuem autonomia gerencial, oramentria e financeira;
e) podem firmar, por meio de seus administradores, contratos de gesto
com outros rgos ou com pessoas jurdicas (CF, art. 37, 8
o
);
f) no tm capacidade para representar em juzo a pessoa jurdica que
integram;
g) alguns tm capacidade processual para defesa em juzo de suas
prerrogativas funcionais;
h) no possuem patrimnio prprio.
Prosseguindo, os autores tratam da capacidade processual atribuda a alguns
rgos pblicos para a defesa, na esfera judicial, da sua competncia. Em geral,
os rgos pblicos, como decorrncia da inexistncia de personalidade jurdica, no
possuem capacidade para, em nome prprio, participarem como autores ou rus de
uma relao jurdico processual.
Tal regra s excepcionada para os rgos independentes e autnomos,
(conforme a classificao que apresentaremos a seguir), a quem reconhecida a
capacidade para, em sede de mandado de segurana, defender em juzo o direito ao
exerccio exclusivo de sua competncia, quando este for violada por outro rgo ou
entidade.
1.4. CLASSIFICAO
Dentre as diversas classificaes oferecidas pela doutrina, apresentaremos
inicialmente a elaborada por Hely Lopes Meirelles, pelo fato de ser a mais usual em
concursos pblicos. Ao final do tpico, traremos uma classificao dos rgos quanto
s suas funes, proposta pelo Professor Bandeira de Mello.
O Professor Hely classifica os rgos pblicos:
- quanto estrutura, em simples e compostos;
- quanto atuao funcional, em singulares e colegiados;
- quanto posio estatal, em independentes, autnomos, superiores e
subalternos.
1.4.1. RGOS SIMPLES E COMPOSTOS
rgos simples so aqueles constitudos por um nico centro de
competncia. So rgos que atuam de forma concentrada, sem divises em sua
estrutura formal. Para enquadrar um rgo nesta classificao irrelevante o nmero
de agentes lotadas no rgo, bastando que todos eles desempenhem suas tarefas num
mesmo local.
Os rgos compostos so fruto da desconcentrao administrativa, ou seja,
tm sua estrutura formada por um rgo central e diversas unidades a ele
subordinadas.
1.4.2. RGOS SINGULARES E COLEGIADOS
rgos singulares, tambm denominados unipessoais, so os que tm sua
atuao concentrada nas mos de um nico agente pblico. No queremos com isto
afirmar que em tais rgos h apenas um agente pblico, mas que h um agente
pblico que prevalece em termos de atribuies funcionais sobre os demais. Dessa
forma, a existncia de diversos agentes subordinados ao agente principal em nada
desnatura o enquadramento de um rgo nesta categoria, desde que apenas um
agente detenha o poder decisrio.
exemplo de rgo singular a Governadoria do Estado, na qual apenas o
Governador detm o poder decisrio final.
Os rgos colegiados ou pluripessoais so aqueles que atuam mediante a
manifestao obrigatria e conjunta de seus agentes principais. H agentes de menor
escalo que desempenham as atribuies-meio do rgo, como condio para que os
agentes principais possam deliberar e decidir em conjunto, sendo ineficaz, em regra, a
manifestao isolada de um dos seus membros, salvo quanto a questes especficas
estabelecidas no diploma normativo que rege o funcionamento do rgo.
As turmas e cmaras dos Tribunais e as comisses do Congresso Nacional, bem
como seus respectivos plenrios, so exemplos tpicos de rgos colegiados.
1.4.3. RGOS INDEPENDENTES, AUTNOMOS, SUPERIORES E
SUBALTERNOS
Os rgos independentes so os previstos diretamente na Constituio, sendo
suas atribuies desempenhadas por agentes polticos, sem qualquer vnculo de
subordinao funcional. So os rgos representativos dos Trs Poderes,
correspondendo na esfera federal Presidncia da Repblica, Cmara dos Deputados
e ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos
demais Tribunais federais.
Os rgos autnomos so aqueles localizados no pice da estrutura
administrativa. So subordinados aos rgos independentes, mas detm
autonomia tcnica, administrativa e financeira. Como exemplo podemos citar as
Secretarias estaduais e a Advocacia Geral da Unio.
Os rgos superiores so aqueles que exercem funes de planejamento,
direo e controle. Possuem autonomia tcnica, quanto s suas atribuies
especficas, mas so despidos de autonomia administrativa e financeira. Esto sempre
subordinados a um rgo independente e, conforme o caso, a um ou mais rgos
autnomos. Nessa categoria se incluem as Procuradorias, as Gerncias, as
Cordenadorias etc.
Os rgos subalternos so os que tm funes meramente executivas, com
reduzido poder decisrio, estando subordinados a diversos nveis de controle e direo.
Como exemplo podemos citar uma seo de pessoal.
1.4.4. RGOS ATIVOS, DE CONTROLE E CONSULTIVOS
Quanto funo, o Professor Bandeira de Mello classifica os rgos pblicos
em:
1) ativos: so os que expressam decises estatais para o cumprimento das
finalidades da pessoa jurdica;
2) de controle, que tem por objetivo fiscalizar e controlar a atividade exercida por
outros rgos, ou mesmo por agentes pblicos;
3) consultivos, atuam de forma vinculada aos rgos ativos, fornecendo-lhes
aconselhamentos ou respondendo a suas consultas, geralmente por meio de
pareceres.
2. AGENTES PBLICOS
Entende-se por agente pblico toda pessoa fsica que exerce, mesmo que
de forma gratuita ou transitria, por qualquer forma de investidura ou
vnculo, mandato, cargo, emprego ou funo pblica.
Dois so, pois, os requisitos para a caracterizao do agente pblico:
um, de carter objetivo, que a natureza pblica da funo
desenvolvida; outro, de carter subjetivo, que a investidura de
uma pessoa natural na referida funo.
Agentes pblicos, enfim, so todas as pessoas fsicas aptas a transmitir, em
funo de algum tipo de vnculo jurdico, a vontade do Estado. No conceito esto
includos desde os chefes de Poder, a exemplo do Presidente da Repblica, at os
agentes que exercem atividades meramente executivas, seja qual for a esfera de
Governo (Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios) ou o Poder (Executivo,
Legislativo e Judicirio) em que executem suas funes.
Incluem-se, ainda, particulares que desempenham alguma funo pblica,
como os agentes delegados, honorficos e credenciados. So agentes pblicos, apesar
de no integrarem a Administrao Direta ou a Administrao Indireta.
2.1. CLASSIFICAO DOS AGENTES PBLICOS
A doutrina no apresenta uma classificao uniforme para os agentes pblicos.
H, na verdade, um sem nmero de classificaes elaboradas por nossos
doutrinadores, a exemplo da construda por Bandeira de Mello, que subdivide os
agentes pblicos em (1) agentes polticos, (2) servidores estatais e (3) particulares em
atuao colaboradora com o Poder Pblico.
Adotaremos novamente a classificao apresentada por Hely Lopes Meirelles
que, a nosso ver, guarda mais proximidade com as questes exigidas nos concursos
pblicos em geral. Ao final, apresentaremos sumariamente a classificao proposta por
Bandeira de mello.
O eminente autor divide os agentes pblicos em cinco espcies: agentes
administrativos, agentes polticos, agentes delegados, agentes honorficos e agentes
credenciados.
2.1.1. AGENTES ADMINISTRATIVOS
Agentes administrativos so todos aqueles que exercem na Administrao um
cargo, emprego ou funo pblica com vnculo empregatcio e mediante
remunerao, estando sujeitos hierarquia funcional do rgo ou entidade no qual
se encontram lotados.
Nessa categoria se incluem os servidores e os empregados pblicos, cujo
meio de ingresso o concurso pblico, os ocupantes de cargos em comisso e
funes de confiana, e os contratados temporariamente em virtude de
necessidade de excepcional interesse pblico.
Dentre tais agentes duas espcies se destacam: os servidores pblicos e os
empregados pblicos.
Em sentido estrito, servidor pblico expresso utilizada para designar os
agentes administrativos que, quando aprovados em concurso pblico, passam a
titularizar determinar cargo pblico de provimento efetivo, estando sujeitos a regime
estatutrio, de natureza eminentemente legal e, portanto, passvel de alterao por
ato unilateral, desde que respeitados os direitos adquiridos do servidor. Integram os
quadros da Administrao Direta, das autarquias e das fundaes pblicas. Alguns
institutos jurdicos, a exemplo da estabilidade, s se aplicam a esses agentes
pblicos.
Temos tambm servidores pblicos que ingressam na Administrao independente
de aprovao em concurso pblico, ocupando cargos em comisso, declarados em lei
de livre nomeao e exonerao pela autoridade competente.
At a EC 18/98 os militares tambm estavam includos nesse grupo, sob a rubrica
de servidores militares. Com a publicao da emenda os militares passaram a formar
uma categoria parte, apesar de, conceitualmente, no haver diferena significatica
entre eles e os servidores civis, inobstante a diversidade de funes. Assim, para nos
referirmos a esta categoria de agentes pblicos, tecnicamente errado fazer uso,
atualmente, da expresso servidores militares, devendo ser utilizado simplesmente o
termo militares. Da mesma forma, no devemos falar em servidores pblicos civis,
mas apenas em servidores pblicos, uma vez que dessa categoria, atualmente, os
militares esto excludos em virtude da alterao constitucional.
Empregado pblico, por sua vez, expresso mediante a qual identificamos os
agentes administrativos que, tambm aps aprovao em concurso pblico, ocupam
em carter permanente um emprego pblico. Esto regrados pela Consolidao das
Leis Trabalhistas (CLT), o que significa que seu vnculo com na Administrao tem
natureza contratual, no sendo passvel de alterao por ato unilateral
necessrio ressaltar que a Constituio de 1988, quando tratou da Administrao
Pblica, no fez uso da expresso funcionrio pblico, at ento largamente utilizada
pela doutrina, bem como por diversos diplomas legais. Dessa forma, no que concerne
ao Direito Administrativo, essa designao encontra-se em franco desuso. No Direito
Penal, todavia, considera-se funcionrio pblico todo agente que, embora
transitoriamente ou sem remunerao, pratica crime contra a Administrao Pblica,
no exerccio de cargo, emprego ou funo pblica (CP, art. 327). Dessa forma, a
expresso funcionrio pblico, em Direito Penal, equivale expresso agente pblico
em Direito Administrativo, devendo cada uma ser utilizada em seus respectivos ramos
jurdicos.
2.1.2. AGENTES POLTICOS
Agentes polticos, para Hely Lopes Meirelles, so os componentes do Governo
nos seus primeiros escales, investidos em cargos, funes, mandatos ou comisses,
por nomeao, eleio, designao ou delegao, para o exerccio de atribuies
constitucionais. So aqueles que exercem funes governamentais, judiciais e quase-
judiciais, elaborando leis, dirigindo os negcios pblicos, atuando com independncia
dentro da competncia traada pela Constituio.
Nessa conceituao ampla esto includos, alm dos chefes do Poder Executivo,
seus auxiliares imediatos e os os parlamentares, indiscutivelmente agentes polticos,
tambm os Membros da Magistratura, do Ministrio Pblico, dos Tribunais de Contas,
alm de outros agentes que atuam com independncia funcional, no exerccio de
atribuies tipicamente estatais.
Bandeira de Mello adota uma definio mais restrita de agentes polticos, assim
considerando apenas os titulares dos cargos estruturais organizao poltica do pas,
isto , os ocupantes dos cargos que compem o arcabouo constitucional do Estado e,
portanto, o esquema fundamental do poder. Sua funo de formadores da vontade
superior do Estado. Para o autor, seriam agentes polticos apenas os chefes do
Executivo (Presidente da Repblica, Governadores e Prefeitos), seus auxiliares
imediatos (Ministros e Secretrios estaduais e municipais) e os membros do Poder
Legislativo (senadores, deputados e vereadores).
Entendemos correta a posio do Professor Bandeira de Mello. Realmente, como
agentes polticos devemos considerar, em nossa opinio, apenas os agentes pblicos
que exercem funes eminentemente polticas, traando as diretrizes e planos de ao
do Estado, elaborando leis e demais atos normativos de igual hierarquia.
Os membros da Magistratura, do Ministrio Pblico e dos Tribunais de Contas,
entre outras autoridades, no exercem funes tipicamente polticas, de formao da
vontade superior do Estado. Desempenham indubitavelmente funes extremamente
relevantes, que justifica o gozo de certas prerrogativas funcionais, no aplicveis
aos agentes pblicos em geral, tais como a vitaliciedade.
Apesar de nosso entendimento, para fins de concursos pblicos temos que
considerar os magistrados, os membros do Ministrio Pblico e os membros dos
Tribunais de Contas como agentes polticos.
Sobre as prerrogativas funcionais dos agentes polticos, ensina Vicente Paulo:
Os agentes polticos possuem certas prerrogativas, hauridas diretamente da
Constituio, que os distinguem dos demais agentes pblicos. Essas prerrogativas no
so privilgios pessoais, mas sim garantias necessrias para o regular exerccio de
suas relevantes funes. Sem tais prerrogativas, os agentes polticos no teriam plena
liberdade para a tomada de suas decises governamentais, em face do temor de
serem responsabilizados segundo as regras comuns da culpa civil, aplicveis aos
demais agentes pblicos.
Como exemplo dessas prerrogativas podemos citar a impossibilidade de priso do
Presidente da Repblica durante o perodo do mandato, por atos estranhos ao exerccio
de suas funes; e a irresponsabilidade penal e civil dos deputados e senadores por
suas opinies, palavras e votos proferidos em razo de suas atribuies parlamentares.
importante ressaltar que diversos aspectos do regime jurdico dos agentes
polticos no so regulados pelo Direito Administrativo, mas pelo Direito Constitucional,
uma vez que as regras bsicas aplicveis a esses agentes pblicos esto postas na
Constituio. As prerrogativas funcionais a que acabamos de nos referir so exemplo
disso.
2.1.3. AGENTES DELEGADOS
Os agentes delegados so os particulares que executam determinada
atividade, obra ou servio pblico em nome prprio e por sua conta e risco, em
regra, mediante delegao do Poder Pblico. So os leiloeiros, tradutores e
intrpretes pblicos, bem como os concessionrios, permissionrios e autorizatrios de
servios pblicos, entre outros. Como se nota, no so agentes administrativos, pois
no executam suas atividades de forma subordinada. Contudo, Tem legitimidade
passiva para responder em mandado de segurana, e por seus atos sujeitam-se
responsabilidade civil objetiva e s sanes de improbidade administrativa.
2.1.4. AGENTES HONORFICOS
Agentes honorficos so aqueles que, por meio de requisio, designao ou
nomeao, prestam transitoriamente servios pblicos de carter relevante. Em
geral no mantm qualquer relao funcional com o Estado, nem so remunerados
pelo desempenho de suas funes, mas so considerados funcionrios pblicos
para fins penais. So, entre outros, os convocados para o servio eleitoral, os
comissrios de menores e os jurados.
2.1.5. AGENTES CREDENCIADOS
Por fim, os agentes credenciados so aqueles convocados para representar o
Poder Pblico em determinado ato ou para desempenhar uma tarefa especfica.
Como exemplo podemos citar a convocao de um cidado para representar o pas em
determinada solenidade internacional. Tambm so considerados funcionrios pblicos
para fins penais.
2.1.6. CLASSIFICAO DE BANDEIRA DE MELLO
O eminente autor divide os agentes pblicos em trs categorias, a saber:
1) agentes polticos: so os titulares de cargos que compe a estrutura
constitucional do Estado, constituindo-se em formadores da vontade superior
estatal. O vnculo que prende tais agentes ao Estado de natureza poltica, e
tem grande parte de seu regime jurdico previsto na prpria Constituio, no
na legislao ordinria;
2) servidores estatais: so todos que se vinculam Administrao
Direta ou Indireta sob vnculo trabalhista, exercendo suas funes de forma
subordinada, mediante contraprestao pecuniria. Aqui se enquadram,
segundo a terminologia do autor, (3) os servidores titulares de cargos pblicos
na Administrao Direta, autrquica e fundacional de direito pblico, (2) os
servidores empregados da Administrao Direta e de todas as entidades da
Administrao Indireta, e (3) os contratados temporariamente para atender
necessidade transitria de excepcional interesse pblico;
3) particulares em colaborao com o Poder Pblico: nas palavras do
autor, esta categoria de agentes composta por sujeitos que, sem perderem
sua qualidade de particulares portanto, de pessoas alheias intimidade do
aprelho estatal (com exceo nica dos recrutados para servio militar)
exercem funo pblica, ainda que s vezes apenas em carter episdico. Na
categoria esto includos (1) os requisitados para a prestao de alguma
atividade pblica, exercida como munus pblico, como os jurados, os
recrutados para o servio militar obrigatrio, os mesrios nas eleies; (2) os
que sponte propria assumem algum encargo pblico frente a situaes
anormais que exigem a adoo de medidas urgentes, como os gestores de
negcios pblicos; (3) os contratados por locao civil de servios, como um
advogado famoso contratado para fazer sustentao oral de um caso perante
Tribunais; e (4) os concessionrios e permissionrios de servios pblicos, bem
como os delegados de funo ou ofcio pblicos (os titulares de serventias de
Justia no oficializadas) e, ainda, os indivduos que praticam certos atos
dotados de fora jurdica oficial, como os diretores de Faculdades particulares
reconhecidas.
QUESTES DE PROVAS ANTERIORES DO CESPE
RGOS E AGENTES PBLICOS
(AGENTE DA PF/2000)
1 Os agentes de polcia federal ocupam cargos pblicos e exercem funes definidas
em lei. Contudo, ao contrrio dos ministros de Estado, juzes e promotores de justia,
eles so agentes pblicos e no agentes polticos.
(PAPILOSCOPISTA DA PF/2000)
2. O direito administrativo disciplina integralmente todos os aspectos jurdicos da
prestao de servios ao Estado dos agentes pblicos em geral.
(TITULAR DE CARTRIO DO DF/2000)
3 Todos os agentes pblicos da Unio, no sentido mais lato da expresso, somente
adquirem estabilidade aps trs anos de efetivo exerccio e se no-reprovados no
estgio probatrio.
4. (Analista Jucicirio TRT 17 Regio/1999) - Aqueles que exercem funes
governamentais, judiciais e quase-judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os
negcios pblicos, decidindo e atuando com independncia nos assuntos de sua
competncia, so conhecidos pela doutrina como agentes
(A) honorrios.
(B) polticos.
(C) administrativos.
(D) delegados.
(E) credenciados.
5. (Assistente Judicirio de 3 Entrncia TJ PE/2001) - O TJPE um(a)
A rgo personificado.
B rgo subalterno.
C rgo independente.
D entidade autrquica.
E entidade dotada de personalidade prpria de direito pblico interno.
6 (Juiz Substituto TJBA/2002) - tecnicamente correta a seguinte frase: Ontem
falei com Joo, funcionrio do Banco do Brasil, que me disse j haver conversado com
o funcionrio do frum a respeito da conta na qual deveria ocorrer o seqestro de
bens.
7 (Advogado da unio/Nov 2002) O Conselho Monetrio Nacional rgo do Ministrio
da Fazenda e, por implementar polticas pblicas na rea macroeconmica, pode ser
classificado como rgo colegiado ativo.
8 (Advogado da unio/Nov 2002) Tanto na delegao de competncia administrativa
quanto no mandato do direito civil os atos so praticados por outrem, de maneira que
um e outro institutos tm a mesma estrutura jurdica.
9 (Advogado da unio/Nov 2002) - No direito administrativo, o conceito de agente
pblico amplo e abrange at pessoas sem vnculo jurdico permanente com a
administrao, como o caso dos componentes de mesas receptoras de votos nas
eleies, pessoas delegadas de servios pblicos, como permissionrios e
concessionrios de servios pblicos, e pessoas detentoras de mandato eletivo, como
os membros de cmaras municipais e o presidente da Repblica.
10 (Tcnico Judicirio rea Administrativa TST/2003) Os rgos da administrao
direta, embora despersonalizados, mantm relaes funcionais entre si e com
terceiros, alm de contarem com prerrogativas funcionais prprias que, quando
infringidas por outro rgo, admitem defesa at mesmo por mandado de segurana.
Gabarito:
1. C
2. E
3. E
4. B
5. C
6. E
7. C
8. E
9. C
10. E
IV. ADMINISTRAO PBLICA
1. ENTIDADES POLTICAS E ENTIDADES ADMINISTRATIVAS
Entidades polticas so aquelas que haurem sua competncia diretamente da
Constituio, exercendo-a, dentro dos limites postos no Texto Maior, com plena
autonomia, sem subordinao de qualquer espcie. Tais entidades detm capacidade
poltica e administrativa, daquela decorrendo sua competncia para legislar. No
Brasil, so entidades polticas a Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios,
todas autnomas, nos termos da Constituio.
J as entidades administrativas no possuem capacidade poltica, mas to
somente administrativa. No lhes outorgado pela Constituio, portanto,
competncia para legislar, sendo suas atribuies desempenhadas nos exatos termos
da lei que as criou ou autorizou sua criao, conforme o caso. Em nosso sistema
jurdico so consideradas entidades administrativas as autarquias, as fundaes
pblicas, as empresas pblicas e as sociedades de economia mista, as quais compem,
em seu conjunto, a Administrao Pblica Indireta, ou simplesmente Administrao
Indireta.
2. DESCENTRALIZAO POLTICA E DESCENTRALIZAO
ADMINISTRATIVA
Descentralizao consiste na transferncia de competncia de uma pessoa para
outra. Pressupe, portanto, a existncia de no mnimo duas pessoas, entre as quais
determinada competncia distribuda.
Na sua conformao mais ampla, h duas modalidades de descentralizao:
poltica e administrativa.
A primeira ocorre quando a entidade descentralizada exerce competncias
prprias, exercidas com autonomia e hauridas diretamente da Constituio, e no por
transferncia do ente poltico central (no caso do Brasil, a Unio). Aqui se enquadram
os Estados, o Distrito Federal e os Municpios. Tal espcie de descentralizao tpica
das Federaes, como o nosso caso.
A descentralizao administrativa se verifica quando uma entidade recebe
determinada atribuio mediante transferncia do ente central, e no por fora de
normas constitucionais. A atribuio assim repassada desempenhada conforme a
vontade poltica da entidade superior, uma vez que a entidade descentralizada no
dispe de competncia legislativa. Tal forma de organizao tpica dos Estados
Unitrios, nos quais h um nico centro de poder, ao qual todas as demais entidades
so subordinadas.
3. MODALIDADES DE DESCENTRALIZAO ADMINISTRATIVA
A partir das lies da professora Di Pietro, podemos destacar trs modalidades
de descentralizao administrativa:
- descentralizao territorial ou geogrfica;
- descentralizao por servios, funcional ou tcnica;
- descentralizao por colaborao.
Segundo a professora, descentralizao territorial ou geogrfica a que se
verifica quando uma entidade local, geograficamente delimitada, dotada de
personalidade jurdica prpria, de direito pblico, com capacidade administrativa
genrica... importante realar que a descentralizao administrativa territorial nem
sempre impede a capacidade legislativa; s que esta exercida sem autonomia,
porque subordinada a normas emanadas do poder central. Nesse espcie de
descentralizao enquadram-se os territrios federais.
Prossegue a autora, afirmando que descentralizao por servios, funcional
ou tcnica a que se verifica quando o Poder Pblico (Unio, Estados ou Municpios)
cria uma pessoa jurdica de direito pblico ou privado e a ela atribui a titularidade e
a execuo de determinado servio pblico, sempre mediante lei. Nessa modalidade
inserem-se as entidades da Administrao Indireta.
E, encerrando sua exposio, Di Pietro explica que descentralizao por
colaborao a que se verifica quando, por meio de contrato ou ato
administrativo unilateral, se transfere a execuo de determinado servio pblico
a pessoa jurdica de direito privado, previamente existente, conservando o Poder
Pblico a titularidade do servio... o controle muito mais amplo do que aquele que se
exerce na descentralizao por servio, porque o Poder Pblico que detm a
titularidade do servio, o que no ocorre nesta ltima. Nessa forma de
descentralizao se incluem os delegatrios de servios pblicos por concesso
ou permisso.
4. CENTRALIZAO, DESCENTRALIZAO E DESCONCENTRAO
ADMINISTRATIVA
Na descentralizao a Administrao Direta transfere parcela de sua
competncia para outra pessoa (geralmente jurdica), sem abrir mo de seu poder
normativo e fiscalizatrio. Pode a Administrao transferir a prpria titularidade do
servio, por lei, pessoa jurdica, caso em que ser o mesmo prestado pelas
entidades integrantes da Administrao Indireta (autarquias, fundaes pblicas,
empresas pblicas e sociedades de economia mista); ou pode repassar apenas a
execuo do servio, mediante contrato ou ato unilateral, caso em que ser o
servio prestado pelas concessionrias e permissionrias de servios pblicos.
Segundo a classificao da Professora Di Pietro, no primeiro caso estaremos
frente descentralizao por servios, funcional ou tcnica, e no segundo frente
descentralizao por colaborao. De acordo com outra classificao, na primeira
hiptese, em que transferida a prpria titularidade do servio a uma entidade da
Administrao Indireta do prprio ente competente para o servio, em regra por prazo
indeterminado, temos a denominada outorga, formalizada mediante lei; na
segunda, quando transferida apenas a execuo do servio, sempre por prazo
determinado, a uma pessoa jurdica no integrante da Administrao Direta ou
Indireta do ente federativo competente para o servio, temos a chamada delegao,
formalizada por contrato ou ato administrativo unilateral.
Uma entidade da Administrao Indireta poder executar um servio sob a
forma de outorga ou de delegao. Ser outorga quando a titularidade do mesmo
transferida por lei pelo prprio ente federado (Unio, Estados, Distrito Federal e
Municpios) do qual a entidade faz parte; ser delegao quando para a entidade tiver
sido transferido mediante contrato ou ato unilateral a prestao de servios de
competncia de outro ente federado (p. ex., uma empresa pblica federal que vence
uma licitao para a prestao de um servio pblico estadual).
A desconcentrao administrativa mera diviso de competncias efetivada
na intimidade de um mesmo rgo ou entidade administrativa, sem quebra da
estrutura hierrquica. No h, no caso, criao de pessoa jurdica ou transferncia de
atribuies a uma j existente, mas apenas diviso de tarefas dentro do mesmo rgo
ou entidade. A desconcetrao poder se dar na Administrao Direta, como, por
exemplo, na Secretaria da Receita Federal, rgo que atua de forma desconcentrada,
desmembrando suas atribuies em uma srie de superintendncias, delegacias,
inspetorias e agncias; ou na Administrao Indireta, como o caso do INSS,
autarquia que reparte suas atribuies em diversas gerncias regionais.
Sintetizando, no caso da Administrao Direta um servio poder ser
executado por ela prpria, de forma centralizada e concentrada (um nico rgo da
Administrao Direta realizando o servio), ou de forma centralizada e desconcentrada
(vrios rgos da Administrao Direta realizando o servio); ou poder ser executado
de forma descentralizada (por outra pessoa, em regra jurdica). Poder a
descentralizao se dar por outorga (uma entidade da Administrao Indireta
prestando o servio) ou por delegao (uma concessionria ou permissionria
desempenhando a atividade).
Uma entidade da Administrao Indireta poder, por sua vez, desempenhar
seus servios de forma concentrada (quando um s rgo da entidade executa todas
suas atribuies) ou desconcentrada (quando a entidade distribui o servio por vrios
rgos). Alm disso, poder descentraliz-los por meio de delegao; no, todavia,
mediante outorga. Entidade da Administrao Indireta fruto de descentralizao
por outorga feita pela Administrao Direta, mas no tem competncia para, tambm,
descentralizar por outorga os servios que lhe foram transferidos, uma vez que no
tem capacidade para legislar, e a outorga, como vimos, depende sempre de lei.
5. ADMINISTRAO DIRETA, ADMINISTRAO INDIRETA E ENTIDADES
PARAESTATAIS
Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, a Administrao Direta o
conjunto de rgos que integram as pessoas polticas do Estado (Unio, Estados,
Distrito Federal e Municpios), aos quais foi atribuda a competncia para o exerccio,
de forma centralizada, de atividades administrativas. Ainda segundo os autores, a
Administrao Indireta o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas
Administrao Direta, tm a competncia para o exerccio, de forma descentralizada,
de atividades administrativas (grifado no original).
O Decreto-Lei n 200/67 dispe acerca da composio da Administrao Pblica
Federal, asseverando que esta compreende:
1) a Administrao Direta, que se forma dos servios integrados na estrutura
administrativa da Presidncia da Repblica e dos Ministrios;
2) a Administrao Indireta, que compreende as seguintes espcies de entidades:
autarquias, fundaes pblicas, empresas pblicas e sociedades de economia mista.
Nas esferas estadual e municipal a estruturao da Administrao Pblica
anloga: a Administrao Direta ser composta, a nvel estadual, pela Governadoria do
Estado, os rgos de assessoramento direto do Governador e as Secretarias Estaduais,
e a nvel municipal pela Prefeitura, os rgos de apoio direto ao Prefeito e as
Secretarias Municipais; j a Administrao Indireta dos Estados e Municpios, a
exemplo da Unio, ser formada pelas autarquias, fundaes pblicas, empresas
pblicas e sociedades de economia mista estaduais e municipais. O Distrito Federal
tem sua estrutura administrativa semelhante dos Estados.
Ficam excludas da estrutura formal da Administrao Indireta empresas que
esto sob controle acionrio do Estado, mas no tem a natureza jurdica de
autarquia, fundao pblica, empresa pblica ou sociedade de economia mista. So
empresas que desenvolvem atividade de natureza econmica industrial ou comercial
e que, apesar de pertencerem ao Estado, no preenchem alguns dos requisitos
indispensveis para a incluso na Administrao Indireta.
Tambm no pertencem Administrao Indireta determinadas pessoas
jurdicas de direito privado, institudas e controladas por particulares, que
desempenham atividades de interesse pblico, sem intuito lucrativo, recebendo
diversos incentivos do Estado para seu funcionamento. So denominadas entidades
paraestatais, categoria integrada, segundo a doutrina dominante, pelos servios
sociais autnomos, as organizaes sociais e as organizaes da sociedade
civil de interesse coletivo. Alguns doutrinadores, a exemplo da Professora Di Pietro,
incluem nessa categoria outras espcies de entidades, como as que recebem
certificado de fins filantrpicos ou que so declaradas de utilidade pblica.
Reza a autora que as entidades paraestatais so entidades privadas, no
sentido de que so institudas por particulares; desempenham servios no exclusivos
do Estado, porm em colaborao com ele; recebem algum tipo de incentivo do Poder
Pblico; por esse razo, sujeitam-se controle pela Administrao Pblica e pelo
Tribunal de Constas. Seu regime jurdico predominantemente de direito privado,
porm parcialmente derrogado por normas de direito pblico. Integram o terceiro
setor, porque nem se enquadram inteiramente como entidades privadas, nem
integram a Administrao Pblica, direta ou indireta. Adiante aprofundaremos o
estudo sobre o assunto.
Como se percebe, o critrio para se considerar uma entidade integrante da
Administrao Indireta to somente subjetivo calcado na natureza jurdica da
entidade -, e no objetivo determinado pela natureza da atividade desenvolvida -.
H entidades que podem exercer atividades tipicamente privadas (empresas pblicas
e sociedades de economia mista) e, no entanto, pertencem Administrao Indireta,
ao passo que h entidades que prestam servios de interesse pblico (entidades
paraestatais), e apesar disto no compem a Administrao Indireta.
6. CRIAO DE ENTIDADES DA ADMINISTRAO INDIRETA
A matria regulada nos inc. XIX e XX da Constituio, que apresentam a
seguinte redao:
XIX somente por lei especfica poder ser criada autarquia e
autorizada a instituio de empresa pblica, sociedade de economia
mista e de fundao, cabendo lei complementar, neste ltimo caso,
definir as reas de sua atuao;
XX depende de autorizao legislativa, em cada caso, a criao de
subsidirias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a
participao de qualquer delas em empresa privada;
Como se percebe, as autarquias so criadas diretamente por lei especfica,
enquanto que as empresas pblicas, sociedades de economia mista e fundaes
pblicas tm to somente sua criao autorizada por lei especfica, sendo necessrio
a edio de outro ato que efetivamente lhes d surgimento.
Assim, para a instituio das autarquias faz-se necessria apenas a edio de
uma lei especfica (ou seja, uma lei que apenas trate da criao de determinada
autarquia). Editada a lei, considera-se instituda a entidade, independente de qualquer
outra medida complementar. importante ressaltar que no devemos confundir a
instituio da entidade o seu nascimento jurdico com o efetivo exerccio de suas
atividades, que sempre tem lugar em momento posterior.
Para a instituio de fundaes pblicas, empresas pblicas e sociedades de
economia mista tambm h necessidade de lei especfica. Tal lei, todavia, no dar
surgimento, por si s, entidade, constituindo apenas um mecanismo, um
pressuposto indispensvel para a edio de outro ato, agora de autoria do Poder
Executivo (um decreto), o qual, uma vez inscrito no registro competente, assinalar a
constituio da entidade.
As autarquias, em vista da sua instituio direta por lei especfica, s podero
ser extintas por meio de instrumento legislativo de mesma espcie. J as demais
entidades da Administrao Indireta podero ser extintas por decreto do Poder
Executivo o qual, todavia, deve ser autorizado por lei especfica. Tais concluses
advm da aplicao do princpio da simetria, segundo o qual uma entidade s pode
ser extinta respeitando-se os mesmos requisitos exigidos para sua constituio.
Para as fundaes pblicas o inc. XIX, na sua parte final, estatuiu mais um
requisito: lei complementar definidora das possveis reas de atuao. Dessa forma,
uma vez entrando em vigor referida lei, as fundaes pblicas s podero ser
estabelecidas para prestar servios nos setores nela determinados, sob pena de
nulidade do ato legislativo que tenha autorizado seu funcionamento. No se tem
ainda notcia dessa lei complementar o que, em termos prticos, significa que a ltima
parte do inc XIX no ainda aplicvel.
O inc. XX do art. 37 da CF disciplina a criao de subsidirias das entidades
da Administrao Indireta e a participao destas em empesas pivadas.
O pimeiro ponto digno de nota que o inc. XX, ao contrrio do inciso anterior,
fala em autorizao legislativa, sem nomear o instrumento idneo para sua concesso.
Disso se conclui que a participao das entidades da Administrao Indireta em
empresas privadas ou a criao de suas subsidirias pode ser autorizada no apenas
em leis especficas, mas tambm em leis genricas (que tratem de outros assuntos
alm da autorizao) ou outros atos normativos primrios, entre outras possibilidades.
comum que o permissivo conste da prpria lei que criou a entidade, prtica que
considera lcita pelo STF.
A autorizao, seja para a instituio de subsidiria, seja para a participao em
empresa privada, no poder ser conferida em termos genricos, ou seja,
indispensvel que cada participao ou criao de subsidiria seja autorizada
individualmente. O inc. XX claro ao exigir autorizao legislativa em cada caso.
Como antes afirmamos, dispensvel que a autorizao seja veiculada em lei
especfica mas, quanto autorizao em si mesma, indispensvel a especificidade,
como exige a norma.
7. ENTIDADES EM ESPCIE
7.1. AUTARQUIAS
7.1.1. CONCEITO E NATUREZA JURDICA
As autarquias so pessoas jurdicas de direito pblico da Administrao Pblica
Indireta, institudas diretamente por lei especfica para o desempenho de atividades
tipicamente administrativas, gozando de todas as prerrogativas e sujeitando-se a
todas as restries estabelecidas para a Administrao Pblica Direta.
No h uma definio legal de autarquia vlida para todas as esferas
administrativas. A nvel federal o Decreto-Lei 200/67 assim a conceitua:
Autarquia o servio autnomo, criado por lei, com personalidade
judica, patrimnio e receita prprios, para executar atividades tpicas da
Administrao Pblica, que requeiram, para seu melhor funcionamento,
gesto administrativa e financeira descentralizada.
As autarquias possuem natureza jurdica de direito pblico, a exemplo dos
rgos da Administrao Direta. Em virtude disto so criadas diretamente pela lei
instituidora, sem necessidade de registro. importante ressaltar que essas entidades
detm poder de auto-administrao, mas no de auto-organizao; em outras
palavras, possuem capacidade de gerir a si prprias, mas dentro dos parmetros
estabelecidos pela lei instituidora, os quais no detm competncia para alterar.
essa caracterstica a natureza meramente administrativa que as distingue
das denominadas pessoas polticas (Unio, Estados, Distrito Federal, Municpios), que,
alm de auto-administrar-se, podem tambm criar seu prprio Direito (auto-
organizao).
Alm disso, como expe a Professora Di Pietro, perante a Administrao
Pblica centralizada a autarquia dispe de direitos e obrigaes; isto porque, instituda
por lei para desempenhar determinado servio pblico, do qual passa a ser titular, ela
pode fazer valer perante a Administrao o direito de exercer aquela funo, podendo
opor-se s interferncias indevidas; vale dizer que ela tem direito ao desempenho do
servio nos limites definidos em lei. Paralelamente, ela tem a obrigao de
desempenhar suas funes...
As autarquias so consideradas um servio pblico personalizado, expresso
que indica a natureza de sua atividade (sempre prestao de servios tipicamente
estatais) e o fato de constiturem uma pessoa jurdica, com capacidade de adquirir
direitos e contrair obrigaes em nome prprio.
7.1.2. CRIAO
Como j afirmado, as autarquias so criadas diretamente por lei especfica, sem
necessidade de qualquer medida complementar para a aquisio de sua personalidade
jurdica. Nos termos do art. 61, 1, II, e, da CF, na esfera federal compete
privativamente ao Presidente da Repblica a iniciativa de lei para a criao de
autarquias. Por fora do federalismo que caracteriza nossa Repblica, devemos
estender essa regra para as demais esferas de Governo. Assim, nos Estados e no
Distrito Federal compete tal atribuio privativamente ao respectivo Governador, e nos
Municpios aos Prefeitos.
7.1.3. PATRIMNIO
Os bens das autarquias so reputados bens pblicos, gozando de todos os
privilgios a estes inerentes, a saber: inalienalbilidade, impenhorabilidade,
imprescritibilidade e no-onerabilidade. Tais bens so transferidos autarquia
pela lei instituidora da entidade e, no caso de sua extino, os bens so reincorporados
ao patrimnio da pessoa poltica responsvel pela sua criao.
7.1.4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Ensina o Professor Marcelo Alexandrino: O Decreto-Lei n
o
200/67, ao conceituar
as autarquias, disps que so entidades destinadas a executar atividades tpicas da
Administrao Pblica. A inteno do legislador foi a de atribuir s autarquias a
execuo de servios meramente administrativos ou de cunho social, excluindo
aqueles de natureza econmica, industrial, que so prprios das entidades pblicas de
direito privado (sociedades de economia mista e empresas pblicas). A autarquia,
portanto, deve ser criada para atuar naqueles servios que exijam uma maior
especializao por parte do Estado, com organizao prpria, administrao mais gil e
pessoal especializado, sem a burocracia comum das reparties da Administrao
Direta.
7.1.5. REGIME DE PESSOAL
O art. 39 da Constituio, em sua redao original, exigia que cada ente
federativo institusse um regime jurdico nico aplicvel a todos os servidores da sua
administrao direta, autrquica e fundacional.
A EC 19/98, todavia, acabou com a obrigatoriedade de adoo do referido
regime jurdico nico, de modo que, atualmente, a Unio, cada Estado, o Distrito
Federal e cada Municpio tm liberdade na escolha do regime a que submetero os
servidores da sua administrao direta, de suas autarquias e fundaes pblicas. Pode
um municpio, por exemplo, determinar, que seus servidores ficaro todos sujeitos ao
regime celetista, ou ao estatutrio, ou mesmo que os servidores da administrao
direta ficaro subordinados ao primeiro e os da administrao autrquica e fundacional
ao segundo, entre outras variveis possveis.
H duas ressalvas nessa questo: vem o STF entendendo que o pessoal das
agncias reguladoras, pela espcie de atividade exercida, deve ser regrado por
regime estatutrio, pelas garantias que este oferece quando em comparao ao
celetista. Ainda, entende a doutrina que h determinadas carreiras do servio pblico,
como as de polcia e de fiscalizao, que necessariamente devem ter seus servidores
sujeitos ao regime estatutrio, pelos mesmos motivos acima elencados. Estudaremos
tais ressalvas com mais vagar quando tratarmos dos servidores pblicos.
Qualquer que seja o regime de pessoal utilizado, s autarquias aplica-se a regra
constitucional que obriga realizao de concurso pblico (CF, art. 37, II), bem assim
a que veda a acumulao de cargos, empregos e funes pblicas (CF, art. 37, XVII).
7.1.6. ATOS E CONTRATOS
Os atos das autarquias so atos administrativos, sujeitos mandado de
segurana, e revestidos dos mesmos atribudos conferidos aos atos administrativos em
geral: auto-executoriedade, presuno de legitimidade e imperatividade. Os
contratos firmados pelas autarquias so contratos administrativos, da mesma
forma que os pactuados pela Administrao Direta, exingindo em regra prvia
licitao.
7.1.7. CONTROLE JUDICIAL
Como os atos das autarquias so considerados atos administrativos, esto sujeitos
controle judicial quanto sua legalidade e legitimidade. Tal controle poder ser
efetuado pelas vias ordinrias, a exemplo das aes anulatrias e indenizatrias, ou
pelas vias especiais, a exemplo do mandado de segurana e da ao popular.
7.1.8. JUSTIA COMPETENTE
As autarquias, sendo interessadas na condio de autoras, rs, assistentes ou
opoentes, tm suas lides decididas pela Justia Federal, ressalvadas as causas de
falncia, acidente do trabalho ou de competncia da Justia Eleitoral ou do Trabalho
(CF, art. 109, I). Os mandados de segurana contra atos ilegais ou abusivos praticados
ou ordenados pelos dirigentes das autarquias tambm so julgados pela Justia
Federal (CF, art. 109, VIII).
Os litgios envolvendo as autarquias e seus agentes, quando em discusso
aspectos da relao laboral, so julgados pela Justia Federal, quando o vnculo
existente de carter estatutrio; e pela Justia do Trabalho, quando o vnculo de
natureza celetista.
7.1.9. RESPONSABILIDADE CIVIL
Aplica-se s autarquias a responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37,
6), pela qual so essas entidades responsveis pelos atos de seus agentes que, nessa
qualidade, causem prejuzos a terceiros, independente da ocorrncia de dolo ou culpa
do preposto;
7.1.10. IMUNIDADE TRIBUTRIA
As autarquias gozam da denominada imunidade tributria recproca, que
veda a instituio de impostos sobre sobre o seu patrimnio, renda ou servios, desde
que vinculados s suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.
Note-se que a imunidade, alm de limitar-se aos impostos, no se aplica ao
patrimnio, renda ou servios dissociados das finalidades essenciais das autarquias, ou
que sejam delas decorrentes. Assim, se uma autarquia fizer investimentos financeiros,
p. ex., est sujeita ao imposto de renda sobre o lucro obtido;
7.1.11. PRIVILGIOS PROCESSUAIS
As autarquias usufruem das mesmas prerrogativas processuais conferidas
Fazenda Pblica, entre as quais podemos citar o pagamento de custas judiciais apenas
ao final da ao, quando vencidas; a dispensa de apresentao por seus procuradores
do instrumento de mandato, quando em juzo; e o prazo em quadruplo para contestar
e em dobro para recorrer.
Alm disso, as autarquias no se sujeitam a concurso de credores ou habilitao
de crdito em falncia, concordata ou inventrio, para cobrana de seus crditos, salvo
para estabelecimento de preferncia entre as diversas Fazendas Pblicas.
E, ainda, a sentena proferida contra autarquia, ou a que julgar procedentes, no
todo ou em parte, os embargos execuo de dvida ativa da Fazenda Pblica
(compreendendo-se na expresso a dvida ativa das autarquias), est sujeita ao duplo
grau de jurisdio obrigatrio, s adquirindo eficcia jurdica se confirmada pelo
tribunal (CPC, art. 475, I e II). o denominado duplo grau de jurisdio obrigatrio
(ou de ofcio), que pode ser excepcionado em duas hipteses:
1) quando a deciso contrria autarquia for de valor igual ou inferior a 60
(sessenta) salrios mnimos, (CPC, art. 475, 2
o
);
2) quando a sentena for fundamentada em jurisprudncia do plenrio do Supremo
Tribunal Federal ou em smula deste Tribunal ou do tribunal superior (CPC, art. 475,
3
o
).
7.1.12. PRESCRIO QINQENAL
Prescreve em cinco anos o direito de terceiros contra as autarquias.
Ultrapassado este prazo sem o ingresso em juzo extingue-se o direito de ao do
interessado.
7.1.13. DIRIGENTES
Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente paulo,a forma de investidura dos
dirigentes das autarquias ser aquela prevista na lei instituidora ou estabelecida em
seu estatuto. A competncia para a nomeao privativa do Presidente da Repblica,
conforme o art. 84, XXV, da CF/88 (simetricamente, ser do Governador, nos estados
e no DF, e do Prefeito, nos Municpios). A nomeao poder necessitar de prvia
aprovao pelo Senado Federal (CF, art. 84, XIV), seja quando essa exigncia conste
expressamente da Constituio (caso do presidente e dos diretores do Banco Central
CF, art. 52, III, d), seja quando, com fulcro no art. 52, III, f, da Carta, essa
exigncia conste de lei (caso, e. g., dos dirigentes das atuais agncias reguladoras,
como a ANATEL, a ANEEL e a ANP). No que toca aos estados, ao DF e aos municpios,
com base no princpio da simetria, tendo em vista o disposto no art. 52, III, f, da
Constituio, consolidou-se a jurisprudncia do STF no sentido da validade de normas
locais que subordinam a nomeao dos dirigentes de autarquias ou fundaes pblicas
prvia aprovao da Assemblia Legislativa (ADIMC 2.225, de 29.06.2000)...
Entretanto, ressaltamos que a mesma exigncia de aprovao pelo Poder Legislativo
da exonerao de dirigente de autarquia efetuada pelo Chefe do Executivo (ou de que
a exonerao decorra diretamente de ato do Poder Legislativo) no pode ser
estabelecida, sendo considerada, pelo STF, ofensiva ao princpio da separao entre os
poderes (ADIMC 1.949-RS).
7.1.14. CONTROLE FINALSTICO
A Administrao Direta exerce sobre a Administrao Indireta o denominado
controle finalstico, tambm denominado tutela administrativa ou superviso
ministerial. Nesse controle a Administrao Direta, por meio de seus rgos centrais
(ministrios e secretarias, conforme o caso), busca, precipuamente, assegurar que a
autarquia atue em conformidade com o programa geral de governo e com as
finalidades para ela estabelecidas na sua lei instituidora e respectivo regulamento.
O controle finalstico no modalidade de controle hierrquico, pois no existe
subordinao, relao hierrquica, entre uma autarquia e a Administrao Direta,
mas apenas vinculao, termo que significa que a entidade deve alcanar as metas
que justificaram sua criao, dentro de sua especfica rea de atuao, sem desvios de
conduta.
Esse controle exercido nos exatos termos da lei que instituiu a entidade.
Poder ele ser repressivo ou preventivo, de mrito ou de legalidade, de acordo com o
que determinar o referido diploma legal.
Na esfera federal o controle finalstico denominado superviso ministerial, e
tem como objetivos, segundo o art. 26 do Decreto lei-200/67:
I a realizao dos objetivos fixados nos atos de constituio da entidade;
II a harmonia com a poltica e a programao de governo no setor de atuao da
entidade;
III a eficincia administrativa;
IV a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade.
7.1.15. AUTARQUIAS DE REGIME ESPECIAL
Algumas autarquias tm sido institudas sob o rtulo de autarquias de regime
especial, sem que a respectiva lei instituidora especifique quais as particularidades da
entidade em questo que justificam a utilizao dessa expresso. Frente a tal
impreciso, entendem nossos doutrinadores que o legislador tem se valido dessa
denominao para instituir autarquias com privilgios diferenciados, detentoras de
maior autonomia administrativa do que as autarquias em geral.
7.2. FUNDAES PBLICAS
Atualmente no pairam dvidas acerca da condio das fundaes pblicas
como entidades integrantes da Administrao Pblica Indireta. Nem sempre foi assim.
Quando do surgimento das fundaes pblicas grassavam inmeros debates a nvel
doutrinrio e jurisprudencial acerca do tema. O Decreto-lei 200/67, que disps sobre a
organizao administrativa federal, no elencava as fundaes pblicas entre as
entidades da Administrao Indireta, apenas equiparava-as s empresas pblicas. A
nvel legislativo infraconstitucional, apenas a Lei n 7.596/1987 incluiu as fudaes
pblicas na Administrao Indireta. De qualquer forma, hoje pacfico tal
entendimento.
As fundaes so figuras jurdicas oriundas do direito privado, constitudas pela
atribuio de personalidade jurdica a um patrimnio e pela sua destinao a um fim
especfico, sempre de carter social. Dessa forma, no mbito privado, so
caractersticas bsicas das fundaes (1) o instituidor, ou seja, aquele que destina um
patrimnio ao atingimento de dada finalidade, conferindo-lhe para tanto autonomia
jurdica; (2) a atividade em si mesma, necessariamente de carter social e (3) a sua
natureza no-lucrativa.
Nesses moldes so criadas as fundaes privadas, constitudas por um
patrimnio particular com o objetivo de prestar um servio de ndole social, sem fins
lucrativos.
As fundaes pblicas coincidem com as fundaes privadas no que tange
finalidade social e ao objeto no-lucrativo, todavia, delas se afastam quanto figura
do instituidor e ao patrimnio reservado. No caso, o Poder Pblico que cria a
entidade, afetando para tanto parcela do patrimnio pblico.
7.2.1. NATUREZA JURDICA
Quanto sua natureza jurdica, ainda persistem dvidas se so as fundaes
pblicas pessoas jurdicas de direito pblico ou privado. Inicialmente foram essas
entidades consideradas de direito privado, pois nem mesmo eram includas na
Administrao Indireta federal, nos termos do Decreto-lei 200/67, que apenas as
equiparava s empresas pblicas. A Constituio de 1988, contudo, alterou
substancialmente o regramento jurdico aplicvel a essas entidades, atribuindo-lhes
diversos privilgios tpicos das pessoas jurdicas de direito pblico. A partir da sua
promulgao, a maioria da doutrina passou a conferir-lhes natureza jurdica de direito
pblico.
Tal posio tendia a consolidar-se, no fosse a promulgao da EC n 19/98,
que equiparou as fundaes pblicas s empresas pblicas e sociedades de economia
mista quanto forma de instituio. A partir da entrada em vigor da referida emenda,
as fundaes pblicas, nos termos do art. 37, XIX, so criadas por ato do Poder
Executivo, precedido de autorizao em lei especfica. O ato de criao (decreto) tem
que ser registrado no Registro de Pessoas Jurdicas, para s ento ter incio a
existncia legal da entidade.
Tal inovao reacendeu os debates acerca da natureza jurdica das fundaes
pblicas. Embora no se tenha chegado a um consenso sobre o tema, a posio hoje
majoritariamente adotada de que existem duas modalidades de fundao pblica
na Administrao Indireta: de direito privado e de direito pblico.
As fundaes pblicas de direito privado so criadas nos moldes do art. 37, XIX,
da CF: por decreto do Poder Executivo autorizado em lei especfica, o qual dever ser
registrado para ter-se incio a personalidade jurdica da entidade. J as fundaes
pblicas de direito pblico so criadas diretamente por lei especfica, sem
necessidade de registro de seu ato constitutivo. Tem-se entendido majoritariamente
que o Estado, ao instituir uma fundao pblica diretamente por lei especfica, est na
verdade instituindo uma modalidade de autarquia. O Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justia vm perfilhando tal entendimento.
Como afirmam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, a possibilidade de serem
institudas fundaes mediante ato prprio do Poder Executivo, autorizado por lei
especfica, leva-nos concluso de que, aps a EC n
o
19/1998, passam a coexistir na
Administrao Indireta fundaes pblicas com personalidade jurdica de direito
pblico, institudas diretamente por lei especfica, e fundaes pblicas com
personalidade jurdica de direito privado, institudas por ato prprio do Poder
Executivo, autorizado por lei especfica. Enfim, quando o Poder Pblico institui uma
pessoa jurdica sob a forma de fundao pblica, ele pode atribuir a ela regime jurdico
pblico, prprio das entidades pblicas, ou regime de direito privado. Em qualquer
caso, exige-se lei complementar para o estabelecimento das reas em que podero
atuar as fundaes pblicas.
O atual Cdigo Civil, Lei 10.246/2002, admite a criao de fundaes pblicas com
personalidade jurdica de direito pblico, ao estatuir, em seu art. 41, V:
Art. 41. So pessoas jurdicas de direito pblico interno:
I a Unio;
II os Estados, o Distrito Federal e os Territrios;
III os Municpios;
IV as autarquias;
V as demais entidades de carter pblico criadas por lei.
Apesar de nosso posicionamento favorvel possibilidade de serem institudas
fundaes pblicas diretamente por lei especfica, foroso reconhecer que a doutrina
de nenhuma forma encontra-se pacificada quanto ao assunto, havendo diversos
doutrinadores que, face literalidade do art. 37, XIX, com a redao da EC 19/98,
descartam com vemencia essa possiblidade.
7.2.2. REGIME JURDICO
Apesar do dissenso doutrinrio, a posio dominante atualmente de que
podem ser institudas duas espcies de fundaes pblicas, com distintos regimes
jurdicos: de direito pblico ou de direito privado.
As fundaes pblicas com personalidade jurdica de direito privado so
institudas mediante autorizao legislativa em lei especfica, a partir da qual
expedido um decreto do Poder Executivo e processado o registro dos atos
constitutivos da entidade - o qual marca o incio de sua existncia no mundo jurdico -,
nos mesmos moldes estabelecidos para as empresas pblicas e sociedades de
economia mista.
J as fundaes pblicas de direito pblico, pelo fato de serem
predominantemente consideradas como espcie do gnero autarquia, so criadas
diretamente pela lei especfica, no sendo necessrio o registro de seus atos. Seu
nascimento, portanto, d-se com a edio da lei.
s fundaes pblicas desta ltima espcie aplica-se, sem qualquer ressalva, o
regime jurdico de direito pblico estabelecido para as autarquias, com todos os
direitos, privilgios ou restries dele decorrentes.
No que se refere s fundaes pblicas de direito privado, so elas regidas por
um regime jurdico hbrido, em parte pblico e em parte privado. Segundo Di Pietro,
quando a Administrao Pblica cria fundao de direito privado, ela se submete ao
direito comum em tudo aquilo que no for expressamente derrogado por normas de
direito pblico....
Por exemplo, tm tais entidades imunidade tributria, j que a CF, ao conferir
esse privilgio s fundaes pblicas, o faz de forma ampla, sem restringi-lo quelas
de direito pblico; diversamente, no possuem foro privilegiado na Justia Federal,
pois este previsto apenas para pessoas jurdicas de direito pblico.
No demais frisar novamente que todos os privilgios e restries
estabelecidos na Constituio para as fundaes pblicas de direito pblico so
extensveis s fundaes pblicas de direito privado, j que a Carta sempre se utilizou
da expresso fundao pblica em termos genricos. Se o objetivo fosse distinguir
entre fundaes de direito pblico e privado quanto a prerrogativas e sujeies a EC
19/98 teria promovido tal diferenciao, o que no fez.
oportuno esclarecer que diverge o regime jurdico das fundaes pblicas de
direito privado daquele que regula as empresas pblicas e sociedades de
economia exploradoras de atividade econmica, mesmo que a todas elas se
aplique em diversas matrias o direito privado.
Deve-se considerar que as fundaes pblicas, mesmo quando de direito
privado, sempre visam a uma finalidade social, tendo o carter no-lucrativo de seu
objeto como marca essencial. As empresas pblicas e sociedades de economia mista
exploradoras de atividade econmica, ao contrrio, sempre apresentam objeto
lucrativo, pois visam justamente a competir com as demais empresas privadas no
mbito de uma economia de mercado. Tal distino nos leva a concluir que s
fundaes pblicas de direito privado aplica-se em grau muito maior o regime de
direito pblico, quando em comparao s referidas empresas estatais com intuito
lucrativo, porque no s primeiras podem ser outorgados privilgios e prerrogativas
sem qualquer ofensa ao princpio da isonomia, o que no ocorre quanto s segundas.
Tal concluso reforada pelo disposto no art. 173, 1, da CF, que determina
a aplicao s empresas pblicas e s sociedades de econmica mista exploradoras de
atividade econmica do mesmo regime jurdico aplicvel s empresas privadas,
inclusive quanto direitos e obrigaes de natureza civil, comercial, trabalhista e
tributria. Na verdade, o regime das fundaes pblicas de direito privado muito mais
se assemelha ao das empresas pblicas e sociedades de economia mista prestadoras
de servios pblicos.
7.2.3. FINALIDADE NO-LUCRATIVA E ACRSCIMO PATRIMONIAL
As fundaes em geral, e as fundaes pblicas em particular, so institudas
visando ao desenvolvimento de alguma tarefa social. incompatvel aqui, portanto, a
busca do lucro. O que pode ocorrer, em determinado perodo, a superioridade das
receitas auferidas com relao s despesas incorridas, resultando numa diferena
positiva que no pode ser considerada lucro, uma vez que ser aplicada, na sua
integralidade, na busca dos objetivos da entidade, e no distribuda entre seus
dirigentes ou diretores.
7.2.4. OBJETO
As fundaes pblicas sempre atuam em reas de interesse social, na prestao
de servios pblicos. De acordo com a nova redao do art. 37, XIX, da CF, tais reas
sero estabelecidas em lei complementar. Tradicionalmente, na falta da lei
complementar, considera-se que as fundaes pblicas devem atuar principalmente
nas reas de educao e ensino, assistncia mdica-hospitalar, assistncia social,
atividades culturais e pesquisa;
7.2.5. IMUNIDADE TRIBUTRIA
Segundo a CF, no art. 150, 2, todas as fundaes, inclusive as de direito
privado, gozam da imunidade tributria recproca, pela qual se probe a incidncia de
impostos sobre seu patrimnio, renda e servios, desde que vinculados s suas
finalidades essenciais ou delas decorrentes;
7.2.6. CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO
Para as fundaes pblicas, de direito pblico ou privado, valem as mesmas
observaes feitas sobre o assunto ao tratarmos das autarquias, com apenas uma
ressalva, relativa ao cabimento do mandado de segurana.
O mandado de segurana, consoante o disposto no art. 5, LXIX, s tem
cabimento quando o responsvel pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pblica ou agente de pessoa jurdica no exerccio de atribuies do Poder Pblico.
Esse instrumento pode ser utilizado para impugnar atos praticados pelos dirigentes das
fundaes pblicas de direito pblico, sem qualquer exceo, em virtude da
personalidade jurdica da entidade, de direito pblico. Quanto aos dirigentes das
fundaes pblicas de direito privado, todavia, o mandado de segurana s pode ser
utilizado quando a fundao exercer funes delegadas pelo Poder Pblico, e apenas
no que se referir a tais funes.
valido esclarecer que as fundaes pblicas, mesmo de direito privado, no
esto sujeitas ao controle por parte do MP, que, nesse aspecto, deve fiscalizar apenas
as fundaes institudas por particulares. Como as fundaes pblicas esto sujeitas ao
controle finalstico pelo rgo da Administrao Direta ao qual se encontram
vinculadas, o controle pelo MP desnecessrio;
7.2.7. JUSTIA COMPETENTE
As fundaes pblicas de direito pblico federais tm suas causas apreciadas,
em regra, pela Justia Federal (CF, 109, I); as de direito privado federais, pela Justia
Estadual. As fundaes pblicas estaduais e municipais, qualquer que seja sua
natureza jurdica, tm seu foro na Justia Estadual.
7.2.8. REGIME DE PESSOAL
A partir da EC 19/98, as fundaes pblicas de direito pblico podem ter em
seu quadro estatutrios e celetistas, valendo para elas, nesse assunto, o que j foi
anteriormente afirmado para as autarquias. J as fundaes pblicas de direito privado
s podem admitir seu pessoal permanente sob o vnculo celetista.
7.2.9. RESPONSABILIDADE CIVIL
Esse um ponto interessante. Como se sabe, a responsabilidade objetiva (CF,
art. 37, 6) alcana as pessoas jurdicas de direito pblico e as de direito privado
prestadoras de servios pblicos. Dessa forma, as fundaes de direito pblico so por
ela alcanadas. J as de direito privado s se sujeitaro s suas regras quando forem
prestadoras de servios pblicos, ou seja, quando atuarem na condio de delegatrias
do Poder Pblico.
7.2.10. PATRIMNIO
Os bens das fundaes de direito pblico so bens pblicos, fazendo jus,
portanto, a todos os privilgios que caracterizam tais bens, a saber, inalienalbilidade,
impenhorabilidade, imprescritibilidade e no-onerabilidade .
Os bens das fundaes pblicas de direito privado so bens privados, no
gozando dos privilgios dos bens pblicos. O Professor Bandeira de Mello, entre outros
doutrinadores, entende que os bens dessas entidades, quando vinculados prestao
de algum servio pblico, devem ser tambm considerados bens pblicos, com todas
os privilgios da decorrentes. Mas essa questo d margem a fortes debates
doutrinrios.
7.2.11. PRIVILGIOS PROCESSUAIS
As fundaes pblicas de direito pblico gozam de todos os privilgios
processuais outorgados s autarquias, j as de direito privado se sujeitam s mesmas
normas processuais que as entidades privadas em geral.
7.2.12. ATOS E CONTRATOS
As fundaes pblicas de direito pblico praticam atos administrativos e
celebram contratos administrativos, sem qualquer ressalva.
J as de direito privado, no desempenho da funo administrativa, tambm
realizam atos administrativos e celebram contratos de mesma natureza. No exerccio
de sua finalidade especfica, todavia, seus atos e contratos so de carter privado.
7.2.13. DIRIGENTES
Tambm nesse assunto remetemos o leitor ao tpico em que ele foi discutido
quando tratamos das autarquias.
7.3. EMPRESAS PBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
Embora inconfundveis, as empresas pblicas e as sociedades de economia
mista apresentam diversos pontos em comum no seu regime jurdico, motivo pelo qual
seu estudo ser feito em conjunto. Ao final do tpico sero apresentados os traos
diferenciadores dessas entidades.
7.3.1. CONCEITO
Sociedades de economia mista so pessoas jurdicas de direito privado,
integrantes da Administrao Indireta, institudas mediante autorizao em lei
especfica, sempre sob a forma de sociedade annima, constitudas com capital
majoritariamente pblico, para o desempenho de atividade econmica de produo
ou comercializao de bens, ou para a prestao de servios pblicos.
Empresas pblicas so pessoas jurdicas de direito privado, integrantes da
Administrao Indireta, criadas mediante autorizao em lei especfica, para o
desempenho de atividade econmica de produo ou comercializao de bens, ou para
a prestao de servios pblicos, podendo adotar qualquer forma jurdica e tendo
seu capital formado exclusivamente por recursos pblicos. Na esfera federal, esse
o conceito legal de empresa pblica, oriundo da conjugao do art. 5, II, do Decreto-
lei 200/67 com o art. 173 da CF.
A doutrina denomina empresas estatais ou governamentais ao conjunto
formado pelas empresas pblicas, sociedades de economia mista e outras empresas
que, sob o controle acionrio do Estado, no possuem tal natureza. Efetivamente, a
Constituio, em diversos de seus dispositivos, refere-se a elas como categorias
jurdicas distintas. Podemos citar, exemplificativamente, os art. 71, II, 165, 5 e
173, 1.
Nesse tpico, chamaremos de empresas estatais ou governamentais o conjunto
formado to somente pelas empresas pblicas e sociedades de economia mista, no se
aplicando os comentrios a seguir expendidos s empresas que, embora sob controle
acionrio estatal, no correspondem a uma dessas duas figuras jurdicas.
7.3.2. PERSONALIDADE JURDICA
As empresas pblicas e as sociedades de economia mista so entidades com
personalidade jurdica de direito privado, independente da atividade desempenhada, a
qual pode consistir na explorao de atividade econmica ou na prestao de servios
pblicos.
A personalidade de direito privado dessas entidades deve ser compreendida em
seus devidos termos. Acerca deste ponto, faz-se relevante transcrever a arguta
observao do Professor Bandeira de Mello, vazada nos seguintes termos:
Empresas pblicas e sociedades de economia mista so, fundamentalmente e
acima de tudo, instrumentos de ao do Estado. O trao essencial caracterizador
dessas pessoas o de se constiturem em auxiliares do Poder Pblico; logo, so
entidades voltadas, por definio, busca de interesses transcendentes aos
meramente privados. Sua personalidade de direito privado no desnatura esta
evidncia. O principal, sua finalidade, no pode ser relegado em funo do acidental,
sua natureza jurdica. Jamais poderemos confundi-las com as empresas em geral.
7.3.3. CRIAO
Apesar se ser questo pacfica a personalidade de direito privado das empresas
estatais, o art. 37, XIX, da Constituio, na redao anterior EC 19/98, prescrevia
para essas entidades uma forma de instituio tpica das pessoas jurdicas de direito
pblico pois, nos seus termos, para a criao de uma sociedada de economia mista ou
empresa pblica era necessria apenas a expedio de lei especfica, a partir da qual
estaria constituda a entidade, sem necessidade de qualquer outro procedimento
complementar.
Em posio antagnica, a melhor doutrina j havia consolidado o entendimento
de que, em funo da natureza privada dessas entidades, sua criao demandava,
alm da lei, um decreto do Poder Executivo, que era efetivamente o ato constitutivo da
entidade. Este decreto deveria ser registrado na Junta Comercial ou no Registro de
Pessoas Jurdicas, conforme a forma jurdica adotada, instante em que se considerava
constituda a entidade, com a aquisio da sua personalidade jurdica.
Em consonncia com esse entendimento, o novo texto do art. 37, XIX, da CF,
fruto da EC 19/98, continua a exigir lei especfica, mas agora no para criar, e sim
para autorizar a criao de uma sociedade de economia mista ou empresa pblica. A
partir da lei autorizativa o Poder Executivo expede um decreto, cujo registro no rgo
competente assinala, efetivamente, o nascimento jurdico da entidade.
A exigncia de lei especfica inafastvel, entendendo a doutrina e a
jurisprudncia que, se no for respeitado este requisito na formao de uma dessas
entidades, na verdade estar-se- criando to somente uma empresa estatal sob
controle acionrio do Estado. A diferena se dar quanto ao regime jurdico que vai
reger uma empresa assim constituda, pois a ela no se aplicaro as normas
constitucionais, legais ou regulamentares vlidas para as sociedades de economia
mista e empresas pblicas, a no ser que haja disposio expressa neste sentido.
interessante comentar que o art. 235, 2, da Lei das Sociedades por Aes o
qual afirma que s companhias de que participarem majoritria ou minoritariamente as
sociedades de economia mista no so aplicveis as normas da Lei especficas para
tais entidades, ou seja, no so as companhias onde h essa participao consideradas
sociedades de economia mista para fins de enquadramento na Lei das S/A, sendo por
ela tratadas como uma sociedade annima comum.
A criao de subsidirias das sociedades das empresas governamentais ou sua
participao em empresas privadas demandam igualmente autorizao legislativa,
conforme dispe o art. 37, XX, da CF. A doutrina vem aceitando que a prpria lei
autorizadora da instituio da entidade traga a permisso para a constituio de
subsidirias, no sendo necessria a edio de lei especfica com essa finalidade, j
que no consta tal requisito no texto constitucional. Essa a posio manifestada
tambm pelo STF, o qual j declarou que, uma vez editada a lei autorizativa especfica
para a criao da entidade, se nela j houver a permisso para o estabelecimento de
subsidirias, o requisito da autorizao legislativa (CF, art. 37, XX) acha-se cumprido,
no sendo necessria a edio de lei especial para cada caso.
A extino das sociedades de economia mista e empresas pblicas, por sua vez,
requer tambm autorizao legislativa em lei especfica, a partir da qual o Poder
Executivo expedir o decreto devido e providenciar a baixa dos atos constitutivos do
registro pblico. Isso se d em virtude do princpio da simetria, pois, se a Constituio
exige lei especfica para autorizar a instituio do ente, apenas um instrumento
normativo de mesma natureza pode permitir seu desaparecimento. O mesmo
raciocnio vlido para a extino de suas subsidirias, a qual demanda autorizao
legislativa.
Uma ltima observao quanto criao das sociedades de economia mista e
empresas pblicas. Eventualmente, a lei pode no autorizar propriamente a sua
instituio, mas a transformao de um rgo pblico ou de uma autarquia (ou
mesmo fundao) em uma entidade dessa espcie. Poder tambm a lei autorizar a
desapropriao das aes de uma sociedade privada, ou a subscrio de aes de uma
sociedade annima, em percentual que permita ao Poder Pblico exercer seu controle,
com a expressa disposio de que a pessoa jurdica assim constituda ter a natureza
jurdica de uma sociedade de economia mista ou empresa pblica.
7.3.4. OBJETO
Geralmente as empresas pblicas e sociedades de economia mista so institudas
com a finalidade de explorar uma atividade de natureza econmica, seja a mesma
industrial ou comercial. Seu objeto, portanto, em regra de natureza lucrativa.
Contudo, a possibilidade de criao de uma entidade da Administrao Indireta
com tal objetivo (lucro), consideravelmente mitigada pela Constituio. A Carta, em
seu art. 173, taxativa ao admitir que o Estado explore diretamente atividade
econmica somente quando tal medida for necessria em virtude de imperativos de
segurana nacional ou de relevantes interesses coletivos. Fora desses permissivos
constitucionais ilegtima a interveno direta do Estado no domnio econmico.
Embora em menor nmero, tambm so institudas empresas pblicas e
sociedades de economia mista para a prestao de servios pblicos, sem intuito
lucrativo.
O regime jurdico, em um caso e em outro, diferente, como veremos a seguir.
7.3.5. REGIME JURDICO
As empresas pblicas e sociedades de economia mista, apesar de sempre
ostentarem personalidade de direito privado, ora so regidas por regime jurdico de
direito pblico, ora de direito privado. A Emenda n 19/1998 adotou claramente uma
orientao j manifestada pela maioria da doutrina, de que varia o regime jurdico
aplicvel a essas entidades conforme sua rea de atuao.
Quando explorarem atividade econmica de produo ou comercializao de
bens, rea tipicamente privada, sero regidas principalmente pelo regime jurdico de
direito privado, equiparando-se s demais empresas atuantes no mercado quanto aos
direitos e obrigaes comerciais, civis, trabalhistas e tributrios. O art. 173 da CF a
norma-matriz a ser aplicada nesse caso.
importante frisar este ponto: as empresas governamentais, quando
exercentes de atividade econmica, esto sujeitas ao regime prprio das empresas
privadas, igualando-se a estas nas suas obrigaes civis, comerciais, trabalhistas e
tributrias (CF, art. 173, 1
o
, II), sendo expressamente vedada a concesso a elas de
privilgios fiscais no extensivos s empresas do setor privado (CF, art. 173, 2
o
).
Como nos informa Vicente paulo, essas regras tm por objeto evitar o
estabelecimento de uma concorrncia desleal entre as empresas governamentais e as
do setor privado, em plena consonncia com o princpio da livre concorrncia,
informador da ordem econmica na atual Carta (CF, art. 170, IV).
Ao contrrio, se atuarem na prestao de servios pblicos, subordinam-se
precipuamente ao regime administrativo, de direito pblico, conforme o disposto no
art. 175 da CF. A natureza da atividade exercida prestao de servios pblicos e a
inexistncia de competio com empresas da iniciativa privada legitimam a adoo
desse regime.
Essa diferenciao no deve ser compreendida de forma absoluta, pois
em ambas as situaes h derrogao parcial de um regime jurdico em prol
de outro, conforme a matria de que se trate.
Uma sociedade de economia mista ou empresa pblica que pratique atividade
econmica rege-se predominantemente pelo direito privado, como antes salientamos;
entretanto, sujeita-se a algumas normas de carter pblico, como a obrigatoriedade de
concurso pblico para o ingresso no seu quadro e a proibio de acumulao de
cargos, empregos ou funes pblicas pelos seus empregados.
J uma empresa estatal que preste servio pblico, apesar de vincular-se
sobretudo s normas de direito pblico, em alguns pontos alcanada por normas de
natureza privada, como as referentes sua criao, que se efetiva com o registro de
seus atos constitutivos, de modo idntico s empresas em geral.
Conseqentemente, podemos considerar que as sociedades de economia mista e
empresas pblicas sujeitam-se sempre a regime jurdico hbrido: se explorarem
atividade econmica de produo ou comercializao de bens, ser ele
predominantemente privado; se prestarem servios pblicos, ser ele
preponderantemente pblico.
7.3.6. PESSOAL
Os empregados das empresas pblicas e das das sociedades de economia so
denominados empregados pblicos, pois sujeitos a regime laboral idntico, que tem
como fonte normativa a Consolidao das Leis do Trabalho (CLT). Em vista disso, o
vnculo firmado entre os empregados e aquelas pessoas administrativas tem natureza
contratual, o que torna competente a Justia do Trabalho para o processo e o
julgamento dos conflitos decorrentes da relao de trabalho, conforme determina o
art. 114 da Constituio.
Os empregados pblicos nunca so regidos pelo regime estatutrio, pois essa
espcie de regime trabalhista, no qual se enquadram os chamados servidores pblicos,
pressupe uma pessoa jurdica de direito pblico na condio de empregadora.
Institutos como estabilidade e aposentadoria por um regime previdencirio
diferenciado, direitos do servidor estatutrio, no tm aplicao aos empregados
pblicos.
Apesar da natureza contratual do vnculo trabalhista dos empregados das
empresas pblicas e sociedades de economia mista, diversas disposies
constitucionais e legais alcanam-nos da mesma forma que aos servidores
estatutrios. Entre tantas, podemos citar:
- vedao de acumulao de cargos, empregos e funes pblicas (CF, art. 37, XVIII);
- ingresso na Administrao Pblica, em regra, mediante concurso pblico (CF, art. 37,
II);
- equiparao aos funcionrios pblicos para fins penais (Cdigo Penal, art 327);
- sujeio s sanes por atos de improbidade administrativa, de acordo com a Lei
8.429/92;
- aplicao dos tetos remuneratrios previstos no art. 37, XI, da CF, s empresas
pblicas e s sociedades de economia mista, bem como suas subsidirias, que
receberem recursos da Unio, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municpios para
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral (CF, art. 37, 9
o
). Se
no receberem recursos pblicos para o custeio de tais despesas seus empregados no
esto restritos pelos tetos remuneratrios constitucionais.
7.3.7. DIRIGENTES
Os dirigentes das empresas estatais esto em situao jurdica diversa da dos
demais agentes administrativos, uma vez que so, concomitantemente, agentes da
prpria entidade e do rgo a que ela est vinculada. Em regra, no so empregados
pblicos, no se sujeitando integralmente CLT, salvo se quando de sua designao j
mantinham com a entidade relao dessa natureza.
Podem ou no ter seus atos impugnados via mandado de segurana, dependendo
da espcie de atividade desenvolvida pela entidade que comandam.
Nos termos do art. 5, LXIX, da CF, conceder-se- mandado de segurana para
proteger direito lquido e certo, no amparado por habeas-corpus ou habeas-data,
quando o responsvel pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pblica ou
agente de pessoa jurdica no exerccio de atribuies do poder pblico.
Do enunciado se infere pelo descabimento do mandado de segurana contra ato
de dirigente de sociedade de economia mista ou empresa pblica que exera
atividade econmica de produo ou comercializao de bens ou servios, que
tem natureza privada e, portanto, no se enquadra entre as atribuies do poder
pblico. O mandado de segurana instrumento que s pode ser utilizada contra ato
dos dirigentes dessas entidades quando elas atuam como delegatrias de servios
pblicos.
A ressalva feita com relao ao mandado de segurana no vlida para outros
instrumentos processuais, como a ao popular (CF, art. 5, LXXIII) e a ao por
improbidade administrativa (Lei 9.429/92, art. 1 e 2), para os quais os dirigentes de
todas as empresas estatais tm legitimidade passiva.
Sobre a possibilidade de interferncia do Poder Legislativo na nomeao dos
dirigentes das sociedades de economia mista e empresas pblicas, transcrevemos a
lio de Vicente paulo e Marcelo Alexandrino:
interessante registrar que o Supremo Tribunal Federal perfilhou o entendimento,
embora ainda liminar, de que no legtima lei local (estadual ou municipal) que exija
a aprovao do Poder Legislativo (assemblia legislativa ou cmara municipal) para a
nomeao de dirigente de empresa pblica ou sociedade de economia mista pelo Chefe
do Poder Executivo (governador ou prefeito), diferentemente do que ocorre quando se
trata de autarquias ou fundaes pblicas, em que tal exigncia plenamente
constitucional.
7.3.8. LICITAO
Todas as empresas pblicas e sociedades de economia mista so obrigadas a se
valer do procedimento licitatrio para a contratao de suas obras, compras e servios.
A diferena, a partir da EC 19/98, que quando exercerem atividade econmica, de
produo ou comercializao de bens, poder a lei criar um regime licitatrio
especfico para essas entidades, observados to somente os princpios daquele
previsto para a Administrao Pblica em geral (CF, art. 173, 1, III); enquanto que,
quando atuarem na prestao de servios pblicos, elas devero observar, na
ntegra, o regramento licitatrio estatudo para as pessoas jurdicas de direito pblico.
A Lei 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitaes e contratos no
mbito administrativo, entretanto, no faz qualquer diferenciao quanto natureza
da atividade desenvolvida pelas sociedades de economia mista e empresas pblicas,
sujeitando todas elas, indistintamente, aos seus preceitos.
A partir dessa disciplina normativa, podemos concluir que, atualmente, todas
as empresas pblicas e sociedades de economia mista da Administrao Pblica
sujeitam-se aos ditames da Lei 8.666/1993. No futuro, aps a edio da lei referida no
art. 173, 1, III, da CF, haver dois regimes licitatrios diferenciados para essas
entidades: o primeiro aplicvel quando a atividade desempenhada for de prestao de
servios pblicos, que atualmente encontra-se na Lei n 8.666/1993; e um segundo,
mais gil e flexvel que o anterior, para as situaes em que h atividade econmica de
produo ou comercializao de bens, o qual, respeitados os princpios da
administrao pblica, possibilitar a essas entidades contratar suas compras, obras e
servios de forma mais clere e desburocratizada, em maior conformidade com as
exigncias do mercado onde atuam.
Sobre o assunto, so interessantes as palavras de Bandeira de Mello:
Registra-se, apenas, que no caso de exploradoras de atividade econmica ter-
se- de dar como afastada a exigncia licitatria perante as hipteses em que o uso de
tal instituto inviabiliza o normal desempenho que lhes foi cometido; ou seja: na
rotineira aquisio de seus insumos e na rotineira comercializao dos bens e servios
que colocam no mercado.
Esta uma posio isolada do autor, que no deve ser adotada para fins de
concursos pblicos.
7.3.9. CONCURSO PBLICO
O art. 37, II, da CF, estabelece que o acesso aos cargos e empregos pblicos,
ressalvados os cargos em comisso e as funes de confiana, s pode se dar
mediante concurso pblico de provas ou de provas e ttulos, sendo o cumprimento
desta exigncia obrigatrio para toda a Administrao Pblica Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios,
como se l no caput do mesmo artigo.
Pertencendo as sociedades de economia mista e as empresas pblicas
Administrao Pblica Indireta, e no tendo o texto constitucional feito qualquer
ressalva quanto necessidade de concurso pblico para o preenchimento de empregos
pblicos nessas entidades, mesmo quando regidas majoritariamente pelas normas
aplicveis s empresas privadas, conclui-se necessariamente que elas esto
submetidas a tal regra, da mesma forma que os demais rgos e entidades da
Administrao Direta e Indireta.
H autores que tm um posicionamento diferente, sustentando que as
empresas estatais, quando exploradas de atividade econmica, em determinadas
hipteses podem dispensar a realizao de concurso pblico para a contratao de seu
pessoal. O Professor Bandeira de Mello, por exemplo, advoga o seguinte
entendimento:
Compreende-se que a empresa estatal pode, legitimamente, prescindir da
realizao de concurso pblico nas situaes em que sua realizao obstaria a alguma
necessidade de imediata admisso de pessoal ou quando se trate de contratar
profissionais de maior qualificao, que no teriam interesse em se submeter a prest-
lo, por serem absorvidos avidamente pelo mercado.
A maioria da doutrina, por outro lado, considera o concurso pblico exigncia
inafastvel em qualquer circunstncia, ressalvados os cargos em comisso e as
funes de confiana. O professor Jos dos Santos Carvalho Filho, que defende este
posicionamento, declara: a exigncia constitucional no criou qualquer diferena entre
esta ou aquela entidade da Administrao Indireta e, se no h restrio, no cabe ao
intrprete cri-la em descompasso com o mandamento legal. este o entendimento
que deve prevalecer.
7.3.10. RESPONSABILIDADE CIVIL
No direito ptrio h basicamente duas espcies de responsabilidade: a
subjetiva, cuja fonte normativa o Cdigo Civil, e que tem no dolo ou na culpa um
dos requisitos para sua configurao; e a objetiva, prevista no art. 37, 6, da CF,
que requer para seu nascimento apenas a ocorrncia do dano, do ato lesivo e do nexo
de causalidade entre o o segundo e o primeiro, independente de dolo ou culpa do
agente.
De acordo com o art. 37, 6, a responsabilidade objetiva aplicvel s
pessoas jurdicas de direito pblico e s de direito privado prestadoras de servios
pblicos. Ou seja, uma pessoa de direito pblico, sem questionamentos acerca da sua
atividade, ou de direito privado, desde que preste servios pblicos, responde pelos
atos danosos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, independente
de dolo ou culpa.
As empresas pblicas e sociedades de economia mista, como j comentamos,
podem atuar na prestao de servios pblicos ou na explorao de atividade
econmica. No primeiro caso, a partir das disposies constitucionais, esto sujeitas
responsabilidade objetiva, que independe de dolo ou culpa; no segundo, visto que
exercem atividade tipicamente privada, enquadram-se nas normas do Cdico Civil,
sendo sua responsabilidade subjetiva: apenas quando seus agentes atuarem de forma
dolosa ou culposa que pode a entidade ser responsabilizada pelo prejuzo por eles
causado.
7.3.11. CONTROLE
As empresas pblicas e as sociedades de economia mista esto sujeitas a
controle finalstico do rgo central da Administrao Direta ao qual se encontram
vinculadas.
Ademais, seus atos so passveis de questionamento judicial, tanto por meio de
aes ordinrias, como as aes anulatrias e as cautelares, tanto mediante aes
especiais, como a ao popular e a ao civil pblica.
7.3.12. REGIME TRIBUTRIO
As empresas pblicas e sociedades de economia mista, em virtude do disposto
no art. 173, 2, da CF, no podem gozar de qualquer privilgio ou benefcio fiscal
no extensivo s empresas do setor privado. Quando a empresa estatal explora
atividade econmica, nada h a ser acrescentado, e a vedao aplica-se integralmente,
como entende a unanimidade de nossos autores; todavia, quando ela presta servios
pblicos h certa controvrsia sobre a matria.
No so poucos os autores que entendem, nesse caso, inaplicvel o art. 173,
2, da CF, pois tal vedao destina-se a impedir que as empresas pblicas e as
sociedades de economia mista tenham vantagem em termos de competividade com as
demais empresas da iniciativa privada. Como, ao atuarem como prestadoras de
servios pblicos, as empresas estatais no se encontram em regime de competio
com os particulares, no haveria porque lhes ser negado um tratamento tributrio
diferenciado. Tal posio minoritria, e devemos, para fins de concursos pblicos,
considerar que nenhuma empresa pblica ou sociedade de economia mista, qualquer
que seja sua atividade, pode gozar de benefcios ou privilgios fiscais, exceto aqueles
aplicveis s empresas em geral.
7.3.13. PRIVILGIOS PROCESSUAIS
Apenas as pessoas jurdicas de direito pblico tm privilgios processuais. Como
nenhuma empresa estatal ostenta tal natureza jurdica, a todas se aplica, sem
ressalvas, a legislao processual ordinria.
7.3.14. ATOS E CONTRATOS
As empresas estatais, quando prestadoras de servios pblicos, produzem atos
administrativos e firmam contratos administrativos. Aqui no se faz necessrio
qualquer comentrio adicional.
Quando desempenham atividade econmica a situao distinta: os atos e
contratos relacionados atividade estritamente econmica no tem natureza
administrativa. Por fora do disposto no art. 173, 1, II, da CF, tais atos e contratos
equiparam-se ao dos particulares em geral. J no desempenho da funo propriamente
administrativa as empresas estatais praticam atos e firmam contratos administrativos,
da mesma forma que as pessoas jurdicas de direito pblico.
7.3.15. PATRIMNIO
Os bens das empresas governamentais exploradoras de atividade econmica
so equiparados aos bens dos particulares em geral, estando submetidos a regime
jurdico de direito privado.
Questo polmica surge na definio do regime jurdico aplicvel aos bens das
empresas governamentais prestadoras de servios pblicos. Lastreada no princpio da
continuidade dos servios pblicos, parcela significativa de nossos estudiosos advoga a
impenhorabilidade dos bens relacionados diretamente realizao do servio, pois a
perda de sua propriedade pela entidade dificultaria, quando no impediria, o
desenvolvimento normal da atividade. Os demais bens, no vinculados diretamente ao
servio, poderiam sofrer a constrio judicial.
7.3.16. DISTINES ENTRE EMPRESA PBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA
As sociedades de economia mista e empresas pblicas diferenciam-se
principalmente em trs aspectos: justia competente, quanto s entidades federais;
forma jurdica e composio do capital.
7.3.16.1. JUSTIA COMPETENTE
Ressalvando-se as causas sobre falncia e acidente de trabalho, ou aquelas de
competncia da Justia Eleitoral ou do Trabalho, as demais causas em que a Unio,
suas autarquias e empresas pblicas forem interessadas, na condio de autoras,
rs, assistentes ou opoentes, sero processadas e julgadas na Justia Federal (CF, art.
109, I). O foro para as empresas pblicas federais, portanto, a Justia Federal,
ressalvadas as causas acima arroladas.
J as sociedades de economia mista federais tm suas causas apreciadas, em
regra, pela Justia Estadual. Tal regra s excepcionada quando a Unio tambm se
manifesta no processo. O STF j esclareceu, na Smula n 517, que as sociedades de
economia mista s tem foro na Justia Federal quando a Unio intervm, como
assistente ou opoente.
As empresas pblicas e sociedades de economia mista estaduais e municipais
tm seu foro na Justia Estadual.
7.3.16.2. A FORMA JURDICA
As sociedades de economia mista devem adotar obrigatoriamente a forma jurdica
de Sociedade Annima (S/A). Em vista disso, seu diploma legislativo bsico a Lei
6.404/76 (Lei das Sociedades por Aes). O registro dos atos constitutivos dessa
espcie de entidade, em virtude de sua forma jurdica, sempre feito na Junta
Comercial.
As empresas pblicas podem adotar qualquer forma admitida em direito
(S/A, Ltda., em comandita por aes etc), inclusive a forma de sociedade unipessoal,
prevista apenas para elas no art. 5 do Decreto-lei 200/67, que trata da Administrao
Pblica Federal.
As empresas pblicas federais podem adotar at mesmo uma forma jurdica
indita, se assim o dispuser a respectiva lei autorizadora de sua instituio, pois o
dispositivo retrocitado as autoriza a tanto. As empresas pblicas estaduais, distritais
ou municipais s podero adotar uma forma jurdica j prevista em lei, uma vez que os
Estados, os Municpios e o Distrito Federal no possuem competncia para legislar em
materia cvel ou comercial, e no h lei de carter nacional, editada pela Unio, que os
autorize a criar empresas pblicas sob novo figurino jurdico.
Os atos constitutivos das empresas pblicas sero registrados na Junta
Comercial ou no Registro de Pessoas Jurdicas, conforme a forma jurdica eleita.
7.3.16.3. A COMPOSIO DO CAPITAL
Na lio de Marcelo Alexandrino, o capital das sociedades de economia mista
formado pela conjugao de recursos pblicos e de recursos privados. As aes,
representativas do capital, so divididas entre a entidade governamental e a iniciativa
privada. Exige a lei, porm, que nas sociedades de economia mista federais a maioria
das aes com direito a voto pertenam Unio ou a entidade da Administrao
Indireta federal (Decreto-Lei n
o
200/67, art. 5
o
, III), ou seja, o controle acionrio
dessas companhias do Estado. Mutatis mutandis, se a sociedade de economia mista
for integrante da Administrao Indireta de um Municpio, a maioria das aes com
direito a voto deve pertencer ao Municpio ou a entidade de sua Administrao
Indireta; se for uma sociedade de economia mista estadual, a maioria das aes com
direito a voto deve pertencer ao Estado-membro ou a entidade da Administrao
Indireta estadual, valendo o mesmo raciocnio para o Distrito Federal.
A Professora Di Pietro traz uma relevante considerao, ao afirmar que uma
empresa de que participe majoritariamente uma sociedade de economia mista no
pode tambm ser considerada uma sociedade de economia mista para fins de
enquadramento nas normas especficas para a entidade previstas na Lei das
S/A, nos termos de seu art. 235, 2. Todavia, uma empresa de que participe
majoritariamente qualquer das outras entidades da Administrao Indireta poder ser
considerada uma SEM para fins de regulao pelas normas especficas da Lei das S/A
(sem grifos no original).
As empresas pblicas tm seu capital formado integralmente por recursos
pblicos, pois da sua composio s podem participar pessoas jurdicas
integrantes da Administrao Pblica, Direta ou Indireta, sendo plenamente
admissvel que mais de uma delas participe dessa composio. Na esfera federal, a
maioria do capital votante dessas entidades tem que obrigatoriamente pertencer
Unio, podendo os rgos e entidades da Administrao Direta e Indireta dos demais
entes federativos (Estados, Distrito Federal e Municpios), bem como as entidades da
Administrao Indireta federal, deter participao minoritria no seu capital social.
vedada s pessoas da iniciativa privada a participao no capital de empresas pblicas.
Como em linhas gerais a organizao administrativa dos Estados, dos Municpios e
do DF deve seguir o modelo adotado pela Unio, nas empresas pblicas institudas por
essas pessoas polticas tambm poder haver participao dos rgos e entidades da
Administrao Direta e Indireta dos demais entes federativos, desde que o controle
acionrio permanea em mos da Administrao Direta da pessoa poltica instituidora.
Da mesma forma, pessoas fsicas ou jurdicas da iniciativa privada tm sua
participao proibida.
Um ponto interessante a ser ressaltado o fato de que nas empresas pblicas
pode haver participao minoritria de pessoas jurdicas de direito privado, mas
apenas se integrantes da Administrao Indireta (uma sociedade de economia
mista ou outra empresa pblica), jamais de pessoas fsicas ou jurdicas provenientes
da iniciativa privada. Numa sociedade de economia mista, diversamente, poderemos
ter a participao minoritria tanto de pessoas jurdicas de direito privado da
Administrao Indireta como de pessoas fsicas e jurdicas da iniciativa privada.
Por fim, vlido trazer lume o posicionamento do Professor Bandeira de Mello,
que entende possvel a existncia de uma empresa pblica federal que tenha a maioria
de seu capital sob controle no da Unio, mas de uma de suas entidades da
Administrao Indireta. Trata-se de entendimento minoritrio na doutrina.
QUESTES DE PROVAS ANTERIORES DO CESPE
ADMINISTRAO PBLICA
(PROCURADOR INSS/1998)
1. As sociedades de economia mista somente podem ser criadas por meio de lei
especfica, apesar de tais entes serem sempre criados sob a forma de pessoa jurdica
de direito privado.
2. Fica sujeita ao duplo grau de jurisdio obrigatrio a sentena que julgar procedente
o pedido deduzido em ao em que a fundao pblica federal figure como r.
3. Uma empresa pblica constituda de capital exclusivamente pblico, embora esse
capital possa pertencer a mais de um ente.
4. So processadas e julgadas na justia federal as aes propostas por servidores
contra as empresas pblicas federais com as quais mantenham relao jurdica laboral.
5. Os bens do INSS so impenhorveis. Os dbitos deste ente pblico, definidos em
sentena judicial, so pagos exclusivamente por meio de precatrios.
6. Considerando que as empresa pblicas e as sociedades de economia mista
sujeitam-se ao regime jurdico prprio das empresas privadas, tais entes no esto
obrigados a contratar obras, compras e servios mediante licitao pblica.
7. O ordenamento jurdico no veda que um empregado de sociedade de economia
mista seja concomitantemente empregado de uma sociedade comercial.
(FISCAL DO INSS/1998)
8. As autarquias caracterizam-se pelo desempenho de atividades tipicamente estatais.
9. As autarquias caracterizam-se por serem entidades dotadas de personalidade
jurdica de direito pblico.
10. As autarquias caracterizam-se por beneficiarem-se dos mesmos prazos processuais
aplicveis administrao pblica centralizada.
11. As autarquias caracterizam-se como rgos prestadores de servios pblicos
dotados de autonomia administrativa.
12. As autarquias caracterizam-se por integrarem a administrao pblica centralizada.
(PROCURADOR DO INSS/1999)
13. o entendimento assente na doutrina e na jurisprudncia que os empregados de
sociedades de economia mista no precisam prestar concurso pblico de provas ou de
provas e ttulos para ingressar em empresas estatais, porque estas se submetem a
regime jurdico prprio das empresas privadas.
14. Os salrios de empregados de empresas pblicas e sociedades de economia mista
que no recebam recursos oramentrios dos entes federados para pagamento de
despesas de pessoal ou de custeio em geral no se submetem ao teto de remunerao
constitucional fixado pela EC n 20/98.
(AGENTE DA PF/2000)
15. A administrao pblica direta integrada por pessoas jurdicas de direito pblico,
tais com a Unio, os ministrios e as secretarias, enquanto a administrao indireta
integrada tanto por pessoas jurdicas de direito pblico, como as autarquias e as
empresas pblicas, quanto por pessoas jurdicas de direito privado, como as
sociedades de economia mista.
(ADVOGADO DA CEB/2000)
As empresas pblicas e as sociedades de economia mista
16. respondem objetivamente pelos atos praticados por seus agentes
independentemente de prestarem servios pblicos ou de explorarem atividades
econmicas.
17. que explorem atividades econmicas esto obrigadas a realizar concurso pblico
para a contratao de seus empregados.
18. somente podero ser institudas aps a edio de lei especfica.
19. vinculadas administrao pblica federal possuem foro privilegiado na justia
federal.
20. devero ser registradas em cartrios de pessoas jurdicas ou em juntas comerciais
para poderem adquirir personalidade jurdica.
(TITULAR DE CARTRIO DO DF/2000)
21. As empresas pblicas, em princpio, podem falir; a elas se aplica a legislao
trabalhista, mas com interferncia de normas de direito pblico; tm suas causas
julgadas na justia federal; gozam de prescrio qinqenal em seu favor e respondem
objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.
22. As sociedades de economia mista, em princpio, podem ser rs em ao popular;
tm seu pessoal regido pela legislao trabalhista, embora todo ele, em todos os
nveis, deva ser contratado mediante concurso pblico; submetem-se ao controle dos
tribunais de contas; podem falir, so julgadas na justia estadual e no gozam de
prescrio qinqenal.
(DEFENSOR PBLICO DA UNIO/2001)
O prefeito municipal de um pequeno municpio interiorano resolveu organizar a
prestao do servio pblico municipal de coleta do lixo urbano.
23. A empresa pblica eventualmente criada para a referida finalidade teria
personalidade jurdica de direito pblico e gozaria das vantagens prprias da fazenda
pblica.
(FISCAL DO INSS/2001)
24. O atraso reprovvel do INSS em pagar dvida para com segurado no pode levar
penhora dos bens do Instituto como meio de satisfao forada do direito do credor.
25 (Analista Judicirio rea judiciria STJ/99) - Ao criar um nmero maior de
ministrio rgo da administrao pblica direta, desprovidos de personalidade
jurdica , o poder pblico estar implementando, nos respectivos setores, a
desconcentrao administrativa. Ademais, ao criar entes pblicos para a realizao de
determinadas atividades estatais, dotados de personalidade jurdica prpria investidos
dos necessrios poderes de administrao, estar implantando a descentralizao
administrativa.
26 (Analista Judicirio rea judiciria STJ/99) - As sociedades de economia mista e
as empresas pblicas, integrantes da estrutura da administrao pblica indireta, so
desprovidas de privilgios fiscais. Inseridos no mercado nacional, esses entes
contratam livremente, independentemente de licitao, embora devam prestar contas
anualmente ao Tribunal de Contas da Unio
27 (Juiz Substituto PE/2000) - Quanto organizao administrativa do Estado
brasileiro, assinale a opo correta.
(A) Autarquia so entes de direito pblico com finalidade essencialmente
administrativa e hierarquicamente subordinados pessoa jurdica que os criou.
(B) Na vigente redao do texto constitucional, todo o pessoal das autarquias deve
necessariamente ser admitido sob o regime da legislao trabalhista.
(C) Os rgos pblicos, por no terem personalidade jurdica, no podem estabelecer
relaes jurdicas com os particulares nem podem, diretamente, acionar o Poder
Judicirio.
(D) As empresas estatais so entes criados por meio do mecanismo denominado, em
direto administrativo, descentralizao administrativa; os entes, como essas
empresas, diferem dos rgos pblicos, entre outras razes, por possurem
personalidade jurdica, ao contrrio destes.
(E) Uma vez que os entes da administrao pblica no perdem seu carter de
auxiliares do Estado, a administrao central mantm hierarquia sobre eles e,
portanto, poder disciplinar sobre seus agentes.
28. (Atendente Judicirio TJ BA 2003) Uma autarquia de um estado-membro da
Federao ingressou com ao no tribunal de justia do respectivo estado, requerendo
a propriedade das terras de determinada rea, ante a ocupao mansa e pacfica por
mais de vinte anos. Ocorreu, todavia, que se tratava de terreno pertencente a rea
demarcada, por meio de decreto do presidente da Repblica, como terra
tradicionalmente ocupada por uma tribo indgena. Considerando essa situao
hipottica, julgue os itens seguintes.
Tratando-se o autor da ao de entidade autrquica instituda por estado-membro da
Federao, detentora de personalidade jurdica de direito pblico, a Constituio da
Repblica somente admite o seu ingresso em juzo mediante autorizao constante de
lei estadual especfica.
29. (Atendente Judicirio TJ BA 2003) Administrao indireta, tambm denominada
administrao descentralizada, decorre da transferncia, pelo poder pblico, da
titularidade ou execuo do servio pblico ou de utilidade pblica, por outorga ou
delegao.
30. (Oficial de Justia de 1 Entrncia TJ PE/2001) - O estado de Pernambuco
decidiu, por meio de lei especfica, criar entidade dotada de personalidade jurdica de
direito pblico, com vistas ao desempenho de atividade tpica de Estado. Com base
nessas informaes hipotticas, assinale a opo incorreta.
A Os dirigentes dessa entidade no precisaro respeitar o teto de remunerao
aplicvel no mbito do estado de Pernambuco.
B Conforme disponha a lei de criao, os servidores dessa entidade podero adotar
regime estatutrio.
C O patrimnio, a renda e os servios vinculados s finalidades essenciais da entidade
ou delas decorrentes estaro imunes cobrana de impostos.
D A entidade descrita precisar seguir o regime jurdico das licitaes e contratos
administrativos, previsto na Lei n. 8.666/1993.
E A entidade poder cobrar seus crditos por meio da inscrio de seus devedores em
dvida ativa.QU
31. (Oficial de Justia de 3 Entrncia TJ PE/2001) - Acerca da organizao
administrativa, assinale a opo incorreta.
A A criao de rgos pela administrao pblica fenmeno relacionado
desconcentrao administrativa.
B Os rgos independentes, de que exemplo o TJPE, no possuem personalidade
jurdica prpria.
C Empresas pblicas e autarquias so entidades dotadas de personalidade jurdica de
direito pblico interno.
D Autarquias, fundaes pblicas, empresas pblicas e sociedades de economia mista
integram a administrao pblica indireta.
E Empresas pblicas distinguem-se das sociedades de economia mista, entre outros
aspectos, porque, nas primeiras, o capital social que as criou exclusivamente estatal,
ao passo que, nas ltimas, admite-se participao de particulares em seu capital
social.
32. (Assistente Judicirio de 1 Entrncia TJ PE/2001) - Personalidade jurdica de
direito privado, necessidade de lei autorizativa especfica para a sua criao e capital
social exclusivamente estatal so caractersticas das
A autarquias.
B empresas pblicas.
C sociedades de economia mista.
D fundaes pblicas.
E entidades que integram a administrao pblica direta.
33. (Assistente Judicirio de 1 Entrncia TJ PE/2001) - Caso um empregado de
empresa pblica do estado de Pernambuco decida propor ao contra seu empregador
para reclamar salrio no-pago, ser competente para julgar essa ao o(a)
A justia do trabalho.
B justia comum estadual em vara cvel.
C justia comum estadual em vara da fazenda pblica.
D justia federal de primeiro grau.
E TJPE.
34. (Oficial de Justia de 2 Entrncia TJ PE/2001) - O governo do estado de
Pernambuco decidiu criar entidade para a captao de poupana popular com vistas ao
financiamento de moradia para a populao de baixa renda. Essa entidade teria as
seguintes caractersticas: controle estatal, forma de sociedade annima, personalidade
jurdica de direito privado e participao minoritria de particulares em seu capital
social. Nessa situao hipottica, a entidade a ser criada pelo governo estadual ser
um(a)
A sociedade de economia mista.
B autarquia.
C organizao social.
D rgo independente.
E empresa pblica.
35. (Assistente Judicirio de 2 Entrncia TJ PE/2001) - A existncia de
personalidade jurdica prpria de direito pblico, criao por lei especfica e o
desempenho de atividades tpicas de Estado so algumas das caractersticas de um(a)
A autarquia.
B fundao pblica.
C sociedade de economia mista.
D rgo independente.
E rgo autnomo.
36. (Escrivo - TJ RR/2001) - As expresses descentralizao e desconcentrao so
utilizadas para significar o mesmo fenmeno a distribuio de competncias de uma
para outra pessoa, fsica ou jurdica.
(Tcnico Judicirio rea Administrativa TST/2003)
37. Delegao e descentralizao, juridicamente, tm o mesmo sentido: transferncia,
pelo poder pblico, da titularidade ou da execuo da atividade para outras entidades.
Dessa forma, a administrao indireta corresponde prestao descentralizada das
funes estatais e compreende as autarquias, as fundaes institudas pelo poder
pblico, as sociedades de economia mista, as empresas pblicas e as concessionrias e
permissionrias de servio pblico.
38 Caso um banco estadual, organizado na forma de sociedade de economia mista,
tenha o seu controle societrio transferido para a Unio, a competncia para apreciar
aes judiciais contra o banco ser alterada, passando da justia comum estadual para
a justia federal em razo da presena da Unio como parte ou interessada.
39 Para que se possa conceder qualquer vantagem ou aumento de remunerao, criar
empregos e admitir pessoal nas empresas pblicas, necessria a autorizao
especfica na lei de diretrizes oramentrias.
40 As sociedades de economia mista que explorem atividades econmicas vinculam-se
ao regime jurdico prprio das empresas privadas, inclusive quanto a direitos e
obrigaes civis, comerciais, trabalhistas e tributrios, estando sujeitas falncia.
(Analista Judicirio rea Judiciria TST/2003)
Um acidente de trnsito envolveu um veculo de uma sociedade de economia mista
federal exploradora de atividade econmica e um veculo de uma embaixada, cuja
propriedade pertence, portanto, a um pas estrangeiro. Um dos veculos era dirigido
por um empregado da sociedade de economia mista, domiciliado no Brasil, e o outro,
por um empregado brasileiro da embaixada. O laudo pericial concluiu que o empregado
da sociedade de economia mista havia sido o culpado pelo acidente. Apesar disso, a
embaixada, em razo do acidente, decidiu dispensar seu empregado, recusando-se a
pagar as verbas rescisrias, sob a alegao de que no se aplicava a esse contrato a
legislao trabalhista brasileira.
A respeito dessa situao hipottica, julgue os itens a seguir.
41 Independentemente da atividade que exerce, a sociedade de economia mista
federal referida dever indenizar o prejuzo causado embaixada, uma vez que, por
disposio expressa da Constituio Federal, ela responde objetivamente pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo-lhe assegurado o
direito de regresso contra o responsvel pelo acidente.
42 Caso o estado estrangeiro decida ingressar na justia com ao indenizatria
diretamente contra o empregado da sociedade de economia mista, a competncia para
processar e julgar originariamente o feito ser de um juiz federal de primeira instncia.
43 Se o empregado brasileiro dispensado decidir ingressar com ao judicial contra o
Estado estrangeiro para o pagamento de verbas rescisrias, a competncia para
processar e julgar o caso ser da justia do trabalho brasileira; todavia, a competncia
para processar e julgar eventual recurso ordinrio interposto contra a deciso proferida
ser do STJ.
44 A relao existente entre a sociedade de economia mista e seu empregado no se
subordina ao regime jurdico especfico dos servidores pblicos, no se aplicando a ela
nenhuma das disposies previstas para essa categoria na Constituio.
45. (Fiscal de Contribuies Previdencirias INSS/1997) - Quanto estrutura da
administrao pblica federal, julgue os itens a seguir.
1. Embora seja pessoa jurdica de direito privado, a empresa pblica federal
caracteriza-se por ser composta apenas por capital pblico.
2. Ao contrrio das entidades da administrao pblica indireta, os rgos da
administrao pblica direta tm personalidade jurdica de direito pblico.
3. fato de as sociedades de economia mista qualificarem-se como pessoas jurdicas de
direito privado torna desnecessrio que as mesmas sejam criadas por lei especfica.
4. No direito administrativo brasileiro, autarquia conceitua-se como um patrimnio
pblico dotado de personalidade jurdica para a consecuo de finalidade
especificada em lei
5. A autarquia concebida como pessoa jurdica destinada ao desenvolvimento de
atividade econmica pelo Estado, de modo descentralizado.
46. (Fiscal de Contribuies Previdencirias INSS/1997) - Julgue os seguintes itens,
relativos aos princpios constitucionais da administrao pblica.
1. Contraria o princpio constitucional de publicidade da administrao pblica o fato
de um fiscal de contribuies previdencirias autuar empresa exclusivamente
porque o proprietrio seu desafeto.
2. No regime da Constituio de 1988, em nenhuma hiptese haver greve lcita no
servio pblico.
3. No regime constitucional vigente, a perda da funo pblica e dos direitos polticos,
a indisponibilidade de bens e a obrigao de ressarcir as entidades de direito
pblico por improbidade no exerccio de cargo pblico s podem ser
cumulativamente decretadas em conseqncia de condenao criminal.
4. princpio constitucional da inacumulabilidade de cargos pblicos no se aplica
sempre que o servidor ocupar um cargo federal e outro municipal.
5. Uma vez que a licitao permite a disputa de vrias pessoas que satisfaam a
critrios da lei e do edital, correto afirmar que, com isso, esto sendo observados
os princpios constitucionais da isonomia, da legalidade e da impessoalidade da
administrao pblica.
47. (Fiscal de Contribuies Previdencirias INSS/1998) - As autarquias
caracterizam-se
1. pelo desempenho de atividades tipicamente estatais.
2. por serem entidades dotadas de personalidade jurdica de direito pblico.
3. por beneficiarem-se dos mesmos prazos processuais aplicveis administrao
pblica centralizada.
4. como rgos prestadores de servios pblicos dotados de autonomia administrativa.
5. por integrarem a administrao centralizada.
48 (Defensor Pblico de 4 Classe Amazonas/2003) - A administrao indireta
federal composta tanto por pessoas jurdicas de direito pblico quanto por pessoas
jurdicas de direito privado.
49 (Juiz Substituto TJBA/2002) - A Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos (ECT)
empresa pblica federal; isso significa que ela poderia ter qualquer forma societria,
inclusive a de sociedade unipessoal, o que vedado para as sociedades de economia
mista; por outro lado, se agncia da ECT for alvo de roubo, a ao penal dever ser
promovida pelo MPF, perante a justia federal.
(Procurador TCE RN/2002)
A EC n. 19/ 1998 realizou significativa modificao conceitual no regime jurdico das
empresas pblicas e das sociedades de economia mista que exploram atividade
econmica, sujeitando- as ao regime jurdico prprio das empresas privadas. A
respeito dessas empresas estatais, julgue os seguintes itens.
50 A profunda alterao em relao ao texto original da Constituio da Repblica de
1988 teve reflexos, mais precisamente, na fiscalizao e avaliao dos chamados atos
operacionais ou atos de gesto dessas empresas, uma vez que tais atos encontram-
se, em regra, no campo dos direitos e obrigaes civis e comerciais. Esse fato, no
entanto, no as exclui do controle externo exercido pelos tribunais de contas, que
devem, por sua vez, adequar os seus critrios de fiscalizao, levando em conta que as
referidas empresas exploram atividade econmica em regime de competio e que os
seus atos de gesto devem, por isso, ser avaliados segundo as regras e os princpios
do direito privado, e no do direito pblico, como vinha ocorrendo.
51 Essas empresas respondero pelas obrigaes contradas e pelos prejuzos que os
seus servidores, nessa qualidade, venham a causar a terceiros ou prpria
administrao pblica. Nessas hipteses, a sua responsabilidade objetiva, isto , se
inexistir culpa ou dolo, no cabe a responsabilidade. No ser assim se a empresa
pblica e a sociedade de economia mista forem prestadoras de servio pblico, caso
em que devero responder subjetivamente, at o exaurimento de seu patrimnio,
pelos danos decorrentes da execuo do servio e pelos prejuzos que os seus
servidores, nessa qualidade, causarem a terceiros.
52 Em razo de sua natureza privada, essas empresas no possuem privilgios de
qualquer espcie, inclusive foro ou juzo privilegiado. Isso no significa que no
possam ter os privilgios que a lei autorizadora de sua instituio, ou outra, outorgar-
lhes, mesmo que se trate de privilgios fiscais no- extensivos s empresas do setor
privado.
(Agente da polcia Federal/1997) - Acerca dos mecanismos de organizao
administrativa, julgue os seguintes itens.
53 Sabendo que o Servio Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que tem a
natureza de empresa pblica, foi criado porque a Unio concluiu que lhe conviria criar
uma pessoa jurdica especializada para atuar na rea de informtica, correto afirmar
que a Unio praticou, nesse caso, descentralizao administrativa
54 Tendo o Departamento de Polcia Federal (DPF) criado, nos estados da Federao,
Superintendncias Regionais (SRS/DPF), correto afirmar que o DPF praticou a
desconcentrao administrativa.
55 O Ministrio Pblico Federal rgo da Unio sem personalidade jurdica; possui
portanto, natureza autrquica.
56 As pessoas jurdicas integrantes da administrao pblica indireta constituem um
produto do mecanismo da desconcentrao administrativa.
57 Tanto na descentralizao quanto na desconcentrao, mantm-se relao de
hierarquia entre o Estado e os rgos e pessoas Jurdicas dela surgida.
(Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) -Acerca das fundaes,
julgue os itens abaixo.
58 As fundaes mantidas pelo poder pblico tm dotao patrimonial inteiramente
pblica.
59 Somente mediante autorizao expressa de lei, poder o poder pblico criar
fundaes pblicas com personalidade jurdica de direito privado, em vista da aplicao
de normas de direito pblico.
60 Faculta- se aos partidos polticos instituir fundaes que podero, inclusive, gozar
de imunidade tributria.
61 Para fundaes institudas por partidos polticos, veda- se qualquer ao com fins
eleitorais.
62 As fundaes institudas pelo poder pblico tero capacidade de auto-
administrao, mas estaro sujeitas ao controle administrativo por parte da
administrao direta.
63 (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) - O regime das
empresas pblicas garante todos os direitos do art. 7. da Constituio da Repblica.
(Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) -O governo federal, em
maro de 2002, alegando a existncia de demanda social em determinado setor, criou
empresa pblica sem autorizao legislativa. Em face dessa situao hipottica e da
legislao pertinente, julgue os itens subseqentes.
64 Na hiptese descrita, a empresa, por ser considerada clandestina, no est sujeita
aos limites e s contenes aplicveis s empresas pblicas.
65 Na hiptese em apreo, tendo em vista o princpio da legalidade, no h como
sanar o vcio mencionado, sendo a nica soluo juridicamente aceita a extino da
empresa pblica.
66 H situaes em que o Poder Legislativo poder conferir autorizao genrica ao
Poder Executivo para instituir empresas pblicas ou sociedades de economia mista.
67 S ser permitida a criao de sociedades de economia mista e empresas pblicas,
exploradoras de atividade econmica, quando necessrio para atender a imperativos
da segurana nacional ou a relevante interesse coletivo.
68 As empresas pblicas podero criar subsidirias, delegando- lhes competncias.
69. (Atendente Judicirio TJ BA 2003) A administrao pblica formada pelo conjunto
de rgos institudos para a consecuo dos objetivos do governo, dotada de
personalidade jurdica de direito pblico e incumbida da realizao das atividades que
reflitam o interesse de toda a coletividade.
Gabarito:
1. C
2. C
3. C
4. E
5. C
6. E
7. C
8. C
9. C
10. C
11. C
12. E
13. C
14. C
15. E
16. E
17. C
18. C
19. E
20. C
21. E
22. E
23. E
24. C
25. C
26. E
27. D
28. E
29. E
30. A
31. C
32. B
33. A
34. A
35. A
36. E
37. E
38. E
39. C
40. E
41. E
42. E
43. *
44. E
45. CECEE
46. CEEEC
47. CCCEE
48. C
49. C
50. *
51. E
52. E
53. C
54. C
55. E
56. E
57. E
58. E
59. C
60. C
61. C
62. C
63. C
64. E
65. E
66. E
67. C
68. E
69. E
V. NOVAS FIGURAS DA REFORMA
ADMINISTRATIVA E TERCEIRO SETOR
1. REFORMA DO ESTADO E ADMINISTRAO GERENCIAL
A partir da dcada de 90 o Brasil assistiu ao incio de uma significativa reforma
administrativa, levada a cabo com o intuito de, se no extinguir, ao menos minorar
os deletrios efeitos daquilo que se denominou Crise do Estado, assim compreendida
a incapacidade do ente estatal de manter em nvel adequado os necessrios
investimentos no setor pblico e desta forma cumprir a contento suas atribuies, na
forma em que foram estas delineadas na Constituio de 1988.
Em termos gerais, a reforma visa a reduzir o tamanho da mquina administrativa,
afastando o Estado de alguns setores de atuao, como forma de aumentar sua
eficincia nas reas em que sua participao considerada imprescindvel. A isto,
acresce-se a busca de um maior padro de qualidade na prestao do servio pblico,
dotando-se algumas das entidades administrativas de maior autonomia, mediante a
diminuio dos tradicionais controles de procedimento em prol de um controle sobre
resultados, dentro de um novo modelo de organizao administrativa denominado
administrao gerencial.
A EC 19/98 foi o mais importante instrumento legislativo desta reforma, a qual
segue sendo implementada pela edio de leis e atos infralegais complementares das
diretrizes inseridas na Constituio pela referida emenda.
Nosso objetivo nesse captulo descrever as principais caractersticas de algumas
das principais figuras e institutos jurdicos inseridos em nosso ordenamento
constitucional pela EC 19/98, bem como daqueles que foram por ela fortalecidos.
Iniciaremos nossa exposio pela anlise do contrato de gesto
2. CONTRATO DE GESTO
2.1. HIPTESES DE APLICAO
O contrato de gesto, tambm denominado acordo-programa, foi uma das
novidades inseridas em nosso texto constitucional pela Emenda n 19/1998, que teve
por fim implantar a denominada Reforma Administrativa. instituto diretamente
relacionado ao princpio da eficincia, o qual, pela nova redao do caput do art. 37
da CF, deve nortear a funo administrativa em todos nveis da Federao,
constituindo um dos mais importantes postulados da denominada administrao
gerencial.
Este instituto jurdico admite utilizao em duas hipteses diversas.
Na primeira, o contrato de gesto firmado entre a Administrao Direta
Centralizada e entidades da Administrao Indireta ou mesmo rgos da
Administrao Direta. Pela assinatura do contrato estes rgos ou entidades
obrigam-se ao atingimento de determinadas metas, nele estabelecidas
detalhadamente e, em contrapartida, ganham maior autonomia administrativa,
passando a sujeitar-se, basicamente, ao controle sobre o atingimento das metas
acordadas.
Como exemplo podemos citar um acordo celebrado entre o Ministrio da
Fazenda e a Secretaria da Receita Federal, mediante o qual esta assume o
compromisso de atingir determinadas metas de arrecadao e, em troca, o Ministrio a
libera de parte dos controles tradicionais a que at ento estava sujeita, passando o
rgo central a controlar basicamente o alcance dos nveis de arrecadao acordados.
O art. 37, 8, da CF, constitui a base normativa para a previso pelo
legislador ordinrio de tais ajustes, quando envolvem apenas rgos e entidades da
Administrao Pblica. O dispositivo apresenta a seguinte redao:
A autonomia gerencial, oramentria e financeira dos rgos e entidades da
administrao direta e indireta poder ser ampliada mediante contrato de gesto, a ser
firmado entre seus administradores e o poder pblico, que tenha por objeto a fixao
de metas de desempenho para o rgo ou entidade, cabendo lei dispor sobre:
I o prazo de durao do contrato;
II os controles e critrios de avaliao de desempenho, direitos,
obrigaes e responsabilidades dos dirigentes;
III a remunerao do pessoal.
Na segunda hiptese, o contrato de gesto firmado entre a Administrao
Direta Centralizada e entidades privadas sem fins lucrativos, no integrantes da
Administrao Indireta. Uma vez celebrado o acordo, por meio do qual so
estabelecidas metas de desempenho para a entidade, esta assume a denominao de
organizao social e passa a sujeitar-se ao controle sobre os resultados pactuados,
recebendo em contrapartida auxlio material do Poder Pblico para atingi-los. Tal
auxlio pode constituir-se no repasse de recursos pblicos, na permisso de uso de
bens pblicos e at mesmo na cesso sem nus de servidores pblicos, entre outras
formas de fomento. De qualquer forma, por sua regular utilizao, nos termos do
acordo, responde a organizao social perante a Administrao.
A previso legal para a celebrao de contratos de gesto entre o Poder
Pblico e as organizaes sociais consta do art. 5 da Lei 9.637/98, nos
seguintes termos:
Art. 5. Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gesto o
instrumento firmado entre o Poder Pblico e a entidade qualificada como
organizao social, com vistas formao de parceria entre as partes
para fomento e execuo de atividades relativas s reas relacionadas
no art. 1.
relevante ressaltar que o objetivo da celebrao do contrato de gesto
diverso, conforme o mesmo seja pactuado com rgos e entidades da Administrao
Pblica ou com pessoas privadas externas Administrao. No primeiro caso a
celebrao do contrato amplia a autonomia gerencial do rgo ou entidade; no
segundo ele restringe a autonomia da pessoa privada, pois ela ter que atuar
segundo os termos do acordo e passar a se sujeitar ao controle administrativo sobre
o atingimento das metas acordadas e a gesto dos recursos pblicos que lhe foram
repassados.
2.2. NATUREZA JURDICA
O contrato de gesto, em funo de sua recente insero em nosso
ordenamento, figura que ainda no foi suficientemente compreendida e teorizada. Na
sua primeira acepo, quando acordado no seio da prpria Administrao Pblica, tal
instrumento vtima de acirradas crticas por diversos autores de escol, que negam ao
instituto natureza contratual, chegando mesmo alguns a consider-lo como
desprovido de qualquer eficcia jurdica, quando envolve apenas rgos de uma
mesma pessoa jurdica.
As crticas tm por fundamento, basicamente, dois dos requisitos de validade
dos contratos em geral: a existncia de personalidade jurdica e de contraposio
de interesses entre as partes contratantes.
Entende pacificamente a doutrina civilista que um contrato s pode ser
validamente firmado quando as duas partes podem, em nome prprio, adquirir
direitos e contrair obrigaes; ou seja, quando as duas partes possuem
personalidade jurdica.
Alm disso, o interesse em um contrato, tambm de acordo com a
doutrina civilista, necessariamente contraposto: uma das partes deseja
adquirir determinado direito, em troca do que aceita assumir determinada
obrigao; a outra parte, por sua vez, deseja o direito que pode ser obtido
se a primeira cumprir com sua obrigao, e em contrapartida concorda em
tambm assumir uma obrigao, a qual constitui o objeto de interesse da
primeira, o direito que esta visa adquirir. Por exemplo, numa compra e
venda o vendedor almeja receber um valor em dinheiro, pelo qual ceder a
propriedade de um bem, e o comprador deseja adquirir esse bem, em troca
do que concorda em pagar o preo pedido pelo vendedor. isso que se
entende por contraposio de interesses, um dos requisitos de validade dos
contratos em geral.
Pois bem, com base nesses conceitos afirma-se que, apesar da denominao,
os contratos de gesto firmados entre a Administrao Direta Centralizada e seus
prprios rgos no possuem natureza contratual (h quem afirme que estamos
nessa hiptese perante um nada jurdico), uma vez que os rgos administrativos no
tm personalidade jurdica, atuando sempre e apenas em nome da pessoa jurdica que
integram. So, na verdade, meros centros de competncia despersonalizados. Tais
contratos, portanto, seriam celebrados, nessa hiptese, por agentes de uma mesma
pessoa jurdica.
Igualmente, como o nico interesse que pode nortear a atividade administrativa
o interesse pblico, no haveria como se cogitar da existncia de interesses
contrapostos entre rgos. Em funo disso, na verdade seriam os contratos de gesto
meros termos de compromisso, instrumentos pelos quais os rgos administrativos
hierarquicamente inferiores se obrigariam ao atingimento de determinadas metas.
Crtica semelhante feita com relao aos contratos de gesto pactuados com as
entidades da Administrao Indireta. Apesar de tais entidades possurem
personalidade jurdica, podendo em nome prprio adquirir direitos e contrair
obrigaes, tambm no podem ter interesses contrapostos em relao
Administrao Centralizada.
Nessa hiptese, contudo, as crticas so mesmo veementes, aceitando a maioria de
nossos doutrinadores a validade de tais acordos, mas apenas aps a edio da lei
exigida pelo art. 37, 8, da CF, a qual regular a forma como a autonomia da
entidade administrativa ser ampliada, estabelecendo, por exemplo, quais os controles
que sero suspensos com a celebrao do contrato de gesto.
Apesar de tais colocaes, devemos aceitar a constitucionalidade das leis que
prevejam essa modalidade de ajuste, mesmo quando envolva apenas rgos de uma
mesma pessoa jurdica, em vista do disposto no art. 37, 8, da CF; devendo-se
tambm acatar a natureza jurdica do instituto tal como delineada no texto
constitucional, que lhe conferiu expressamente carter contratual. Sero sem dvida
indispensveis novos aprofundamentos doutrinrios e jurisprudenciais sobre a matria,
que adequaro os requisitos de validade dos contratos em geral, construdos a partir
de uma perspectiva de direito privado, a este novo instituto, tipicamente de direito
pblico. Entendimentos doutrinrios no podem se sobrepor ao texto da Constituio,
mesmo que lastreados em argumentos juridicamente vlidos.
3. TERCEIRO SETOR: AS ENTIDADES PARAESTATAIS
Podemos conceituar entidades paraestatais como pessoas jurdicas de direito
privado, no integrantes da Administrao Pblica, que desenvolvem
atividades de interesse pblico sem intuito lucrativo, recebendo do Estado
alguma forma de incentivo.
Trata-se de entidades institudas por particulares para o desempenho de alguma
atividade no exclusiva do Poder Pblico, mas de seu interesse, que em funo disso a
incentiva. Como haver repasse de recursos pblicos, em regra, ou mesmo a
instituio de contribuies parafiscais, a entidade paraestatal fica sujeita ao controle
efetuado pela Administrao, bem como pelo Tribunal de Contas, alm de ter seu
regime jurdico preponderante, de direito privado, parcialmente derrogado por
disposies de direito pblico.
As entidades paraestatais compem o denominado Terceiro Setor, formado por
entidades externas Administrao que no tm como finalidade a busca do lucro. Ele
coexiste com o Primeiro Setor, que corresponde ao prprio Estado; e com o
Segundo Setor, que formado pelas empresas privadas com interesse lucrativo (o
mercado).
Uma das consequncias imediatas da reduo das reas de atuao direta do
Estado promovida pelos arautos da Reforma Administrativa foi o significativo
incremento das entidades paraestatais, tanto em termos quantitativos como
qualitativos. Alm se serem criadas inmeras entidades desta natureza em nossa
histria recente, foi ampliado em muito seu leque de atuao. Este resultado no
inesperado, desenvolvendo-se dentro de um processo de privatizao de
determinados servios pblicos, um dos objetivos da Reforma.
Dentro do gnero entidades paraestatais, compondo o Terceiro Setor, enquadram-
se os servios sociais autnomos, as organizaes sociais (OS) e as
organizaes da sociedade civil de interesse coletivo (OSCIP). H autores que
acrescem ao rol as entidades declaradas de utilidade pblica e as que recebem
certificados de fins filantrpicos.
Primeiramente, trataremos dos servios sociais autnomos.
3.1. SERVIOS SOCIAIS AUTNOMOS
Servios sociais autnomos so entidades de carter privado e com objeto no-
lucrativo, criadas por lei para atuar nas reas de ensino ou assistncia a
determinadas categorias sociais ou profissionais, sendo incentivadas pelo Estado
por meio de recursos oramentrios ou de contribuies parafiscais.
fundamental ressaltar que no devemos considerar essas entidades como
delegatrias de servios pblicos, pois, apesar de desenvolverem atividades de
interesse social, tais atividades no so exclusivas do Estado. A atuao do Estado,
portanto, de fomento, e no de prestao de servios pblicos. Regra geral, o
fomento da atividade se d por meio de dotaes oramentrias anuais a tais
entidades, ou pela criao de contribuies parafiscais a serem exigidas e
administradas pela entidade.
Tais entes colaboram com o Poder Pblico, atuando paralelamente a ele, mas no
compem a Administrao Pblica Direta ou Indireta. So regidos preponderantemente
pelo direito privado, embora, como afirma a Professora Di Pietro, pelo fato de
administrarem verbas decorrentes de contribuies parafiscais e gozarem de uma srie
de privilgios prprios dos entes pblicos, esto sujeitas a normas semelhantes s da
Administrao Pblica, sob vrios aspectos, em especial no que diz respeito
observncia dos princpios da licitao, exigncia de processo seletivo para seleo
de pessoal, prestao de contas, equiparao de seus empregados aos servidores
pblicos para fins criminais (art. 327 do Cdico Penal) e para fins de improbidade
administrativa (Lei 8.429, de 2-6-92).
Como exemplos de servios sociais autnomos podemos elencar o Servio Nacional
de Aprendizagem Comercial SENAC, o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e
Pequenas Empresas SEBRAE, o Servio Social da Indstria SESI, o Servio Social
do Comrcio SESC, entre tantos outros.
Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino sumariam as principais caractersticas dos
servios sociais autnomos:
a) so criados por lei;
b) tm por objeto uma atividade social, no lucrativa, normalmente
direcionada para a prestao de um servio de utilidade pblica,
beneficiando certo grupo social ou profissional;
c) so mantidos por recursos oriundos de contribuies parafiscais,
recolhidas compulsoriamente pelos contribuintes definidos em lei (em
sua maioria so recolhidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social
INSS -, e repassadas s entidades beneficirias), bem assim mediante
dotaes oramentrias do Poder Pblico;
d) seus empregados esto sujeitos legislao trabalhista;
e) pelo fato de administrarem verbas decorrentes de contribuies
parafiscais (recursos pblicos), esto sujeitos a certas normas de carter
administrativo, especialmente no tocante ao controle pblico, como a
prestao de contas ao Tribunal de Contas e a equiparao de seus
empregados aos servidores pblicos para fins criminais (Cd. Penal, art.
327) e para fins de improbidade administrativa (Lei n
o
8.429/1992);
f) no gozam de privilgios administrativos nem processuais, salvo quando
a lei instituidora expressamente lhes conceder;
g) podem assumir diferentes formas jurdicas na sua instituio (fundao,
associao civil, sociedade civil etc.).
Por fim, os autores informam que, segundo deciso do Tribunal de Contas da
Unio, os servios sociais autnomos no esto sujeitos s normas da Lei
8.666/93. Segundo o TCU, devem essas entidades adotar um procedimento para
efetuar suas contrataes, mas o mesmo deve ser previsto em regulamento prprio,
sem vinculao com a Lei de Licitaes.
3.2. ORGANIZAES SOCIAIS
3.2.1. CONCEITO
As organizaes sociais so pessoas jurdicas de direito privado, sem fins
lucrativos, que adquirem tal qualificao jurdica por meio da celebrao de contrato
de gesto com o Poder Pblico, a fim de desempenharem servios sociais no
privativos do Estado, contando para isso com o auxlio deste, mediante permisso
de uso de bens pblicos, destinao de recursos oramentrios, cesso especial de
servidores, dispensa de licitao nos contratos de prestao de servios relacionados
s atividades contempladas no contrato de gesto, entre outras formas de incentivo.
No se tratam as organizaes sociais de uma nova figura jurdica, mas apenas de
uma qualificao especial conferida a determinadas pessoas jurdicas da iniciativa
privada, sem fins lucrativos, mediante o preenchimento de certos requisitos legais.
No integram a Administrao Direta e Indireta, nem so delegatrias de
servio pblico, pois prestam servios no exclusivos do Estado. So, enfim,
pessoas jurdicas de direito privado realizando atividades de interesse coletivo, em seu
prprio nome. Segundo Di Pietro, a regra s excepcionada quando a entidade atua
na rea da sade, hiptese em que ela dever observar os princpios do Sistema
nico de Sade previstos no art. 198 da Constituio, sendo ento considerada
prestadora de servio pblico em sentido estrito.
Elas no atuam em setores onde necessria a posse de prerrogativas prprias do
Poder Pblico, como o caso, por exemplo, da rea de fiscalizao tributria, na qual o
poder de coero elemento indispensvel para o desempenho da atividade. O
objetivo das organizaes sociais justamente desonerar o Poder Pblico naqueles
setores sociais que no lhe so exclusivos, onde a demanda por servios intensa.
De acordo com o disposto na Lei n 9.637/1998, o Poder Executivo poder conferir
a qualificao de organizao social pessoa jurdica de direito privado, sem fins
lucrativos, que tiver suas atividades nas reas de ensino, pesquisa cientfica,
desenvolvimento tecnolgico, proteo e preservao do meio ambiente,
cultura e sade.
3.2.2. REQUISITOS
Os requisitos para que uma pessoa jurdica possa ser intitulada de organizao
social so essencialmente os seguintes:
1) personalidade jurdica de direito privado;
2) inexistncia de fins lucrativos;
3) atuao nas reas de cultura, ensino, sade, pesquisa cientfica, preservao do
meio ambiente e desenvolvimento tecnolgico.
3.2.3. APROVAO DA QUALIFICAO
Cabe ao Ministro ou titular de rgo supervisor ou regulador da rea de
atividade correspondente ao objeto da entidade, bem como ao Ministro de Estado da
Administrao Federal e Reforma do Estado, decidirem acerca da convenincia e
oportunidade da aprovao do pedido de qualificao.
A deciso administrativa, como se vislumbra, discricionria. Uma vez
aprovado o pedido, a entidade declarada como de interesse social e utilidade
pblica para efeitos legais.
3.2.4. FORMAS DE INCENTIVO
Entre os incentivos que podem usufruir as entidades qualificadas como
organizao social podemos citar:
1) dispensa de licitao para a celebrao de contratos de prestao de
servios relativos s atividades contempladas no contrato de gesto, no mbito
da esfera de Governo onde foi obtida a qualificao;
2) autorizao para a utilizao de bens pblicos para o desenvolvimento de suas
atividades. Tais bens sero destinados entidade mediante permisso de uso,
dispensada a licitao;
3) destinao de recursos oramentrios;
4) cesso especial de servidor pblico, com o nus da remunerao suportado pelo
rgo de origem do servidor;
5) dclarao da entidade como de interesse social e de utilidade pblica, para todos
os fins legais.
3.2.5. O CONTRATO DE GESTO FIRMADO PELAS ORGANIZAES SOCIAIS
Sobre o contrato de gesto firmado entre o Poder Pblico e as
organizaes sociais dispe o art. 5 da Lei 9.637/98:
Art. 5. Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gesto o
instrumento firmado entre o Poder Pblico e a entidade qualificada como
organizao social, com vistas formao de parceria entre as partes para
fomento e execuo de atividades relativas s reas relacionadas no art.
1.
O contrato de gesto, firmado de comum acordo o ente pblico e a entidade
privada, dever observar os princpios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e economicidade. Ele estabelecer os direitos e obrigaes da entidade e
do Poder Pblico, devendo, segundo o art. 7 da Lei 9.637/98, especificamente dispor
sobre:
I especificao do programa de trabalho proposto pela organizao
social, a estipulao das metas a serem atingidas e os respectivos prazos
de execuo, bem como previso expressa dos critrios objetivos de
avaliao de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de
qualidade e produtividade;
II a estipulao dos limites e critrios para despesas com
remunerao e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos
pelos dirigentes e empregados das organizaes sociais, no exerccio de
suas funes.
Pargrafo nico. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da
rea de atuao da entidade devem definir as demais clusulas dos
contratos de gesto de que sejam signatrios.
Por fim, reza o art. 6, pargrafo nico, que o contrato de gesto deve ser
submetido, aps aprovao pelo Conselho de Administrao da entidade, ao Ministro
de Estado ou autoridade supervisora da rea correspondente atividade fomentada.
3.2.6. FISCALIZAO DA EXECUO DO CONTRATO DE GESTO
A matria regulada nos art. 8, 9 e 10 da Lei 9.637/98. Os comentrios que
seguem nada mais so que o teor desses dispositivos.
A fiscalizao do contrato incumbe ao rgo ou entidade responsvel pela
superviso da rea concernente atividade fomentada.
A organizao social apresentar ao rgo ou entidade supervisora do contrato, ao
trmino de cada exerccio ou quando o exigir o interesse pblico, um relatrio sobre
a execuo do contrato de gesto, contendo comparativo das metas propostas com os
resultados efetivamente obtidos, alm da prestao de contas relativa ao exerccio
financeiro.
Os resultados devem ser analisados, periodicamente, por comisso de avaliao,
nomeada pela autoridade supervisora da rea correspondente, dentre
especialistas de notria capacidade e adequada qualificao. Essa comisso, por sua
vez, dever encaminhar autoridade supervisora relatrio conclusivo sobre a
avaliao realizada.
Os responsveis pela fiscalizao da execuo do contrato de gesto, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizao de recursos ou
bens de origem pblica pela organizao social, dela daro cincia ao Tribunal de
Contas da Unio, sob pena de responsabilidade solidria.
Alm disso, devem os responsveis pela fiscalizao, quando houver indcios de m
utilizao dos bens e recursos pblicos, representar ao Ministrio Pblico,
Advocacia-Geral da Unio ou Procuradoria da entidade, para que seja requerida a
indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens de seus
dirigentes, bem como de qualquer outro que possa ter se locupletado ilicitamente ou
causado dano ao errio.
3.2.7. DESQUALIFICAO DA ENTIDADE COMO ORGANIZAO SOCIAL
Nos termos do art. 16 da Lei, cabe ao Poder Executivo proceder desqualificao
da entidade quando verificar descumprimento das disposies do contrato de gesto.
A sano s poder ser imposta aps a instaurao de processo administrativo, no
qual ser assegurado o direito de ampla defesa aos acusados.
Os dirigentes da organizao social, individual e solidariamente, respondero
pelos prejuzos decorrentes de sua ao ou omisso.
Se ocorrer a desqualificao da entidade, ocorrer a reverso dos bens e recursos
pblicos a ela entregues, sem prejuzo de outras sanes cabveis.
A professora Di Pietro traz importante aclaramento sobre essas entidades, nos
seguintes termos:
Embora a Lei 9.637/98 no diga expressamente, evidente e resulta nela
implcito que as organizaes sociais vo absorver atividades hoje desempenhadas por
rgos ou entidades estatais, com as seguintes consequncias: o rgo ou entidade
estatal ser extinto; suas instalaes, abrangendo bens mveis e imveis, sero
cedidos organizao social; o servio que era pblico passar a ser prestado como
atividade privada. Dependendo da extenso que a medida venha a alcanar na prtica,
o Estado, paulatinamente, deixar de prestar determinados servios pblicos na rea
social, limitando-se a incentivar a iniciativa privada, por meio dessa nova forma de
parceria. Em muitos casos poder esbarrar em bices constitucionais...No livro
Parcerias na Administrao Pblica destacamos o contedo de imoralidade contido na
lei, os riscos para o patrimnio pblico e para os direitos do cidado. Em primeiro
lugar, porque fica muito ntida a inteno do legislador de instituir um mecanismo de
fuga ao regime de direito pblico a que se submete a Administrao Pblica. O fato de
a organizao social absorver atividade exercida por ente estatal e utilizar o patrimnio
pblico e os servidores pblicos antes a servio desse mesmo ente, que resulta
extinto, no deixa dvidas de que, sob a roupagem de entidade privada, o real
objetivo de mascarar uma situao que, sob todos os aspectos, estaria sujeita ao
direito pblico. Por outras palavras, a idia de que os prprios servidores da entidade
a ser extinta constituam uma pessoa jurdica de direito privado, sem fins lucrativos, e
se habilitem como organizaes sociais, para exercer a mesma atividade que antes
exerciam e utilizem o mesmo patrimnio, porm sem a submisso quilo que se
costuma chamar de amarras da Administrao Pblica.
Bandeira de Mello tambm se insurge contra a Lei 9.637/98, entre outros
motivos, porque o diploma permite que a entidade qualificada como organizao social
receba bens pblicos, recursos oramentrios e at mesmo servidores pblicos,
custeados pela Administrao, sem necessidade de demonstrar a posse de quaisquer
requisitos de qualificao tcnica ou econmico-financeira que efetivamente
assegurem que a entidade tem condies mnimas para levar a bom termo o contrato.
Para tanto basta a deciso discricionria do Ministro da rea e do Ministro da
Administrao Federal e da Reforma do Estado.
3.3. ORGANIZAES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE COLETIVO
(OSCIP)
As organizaes da sociedade civil de interesse coletivo, a partir deste
ponto designadas simplesmente pela sigla OSCIP, so, a exemplo das organizaes
sociais, entidades privadas sem fins lucrativos, no integrantes da Administrao
Indireta, que desenvolvem atividades de interesse coletivo, em funo do que, aps o
procedimento de qualificao, recebem do Estado diversos tipos de incentivo para a
prestao de seus servios.
Tambm a exemplo das organizaes sociais, no representam uma nova espcie
de pessoa jurdica. So apenas entidades privadas que recebem do Estado uma
especial qualificao, mediante a assinatura de um instrumento legalmente
denominado termo de parceria. Nesse instrumento constam os direitos e obrigaes
de cada um dos signatrios do ajuste, em especial as metas que devem ser cumpridas
pela entidade.
A Lei 9.790/99 estabeleceu as normas bsicas dessa nova modalidade de parceria
entre o Poder Pblico e a iniciativa privada. Os comentrios abaixo so todos retirados
de seus dispositivos
Dentre eles, cabe inicialmente ressaltar o 1 do art. 1, que define entidade
sem fins lucrativos para fins de qualificao como OSCIP. Nos seus termos, assim
considerada a pessoa jurdica que no distribui, entre os seus scios ou associados,
conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais,
brutos ou lquidos, dividendos, bonificaes, participaes ou parcelas do seu
patrimnio, auferidos mediante o exerccio de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecuo do respectivo objeto social.
importante ressaltar que, ao contrrio da lei 9.637/98, que regulou as
organizaes sociais, a Lei 9.790/99 no especificou as modalidades de fomento
aplicveis s entidades qualificadas como OSCIP, restringindo-se a menes genricas
quanto a bens e recursos pblicos.
3.3.2. REAS DE ATUAO DAS ORGANIZAES DA SOCIEDADE CIVIL DE
INTERESSE COLETIVO
A fim de evitar divergncias quanto s atividades que poderiam ser consideradas
como de interesse coletivo, o art. 3, em elenco taxativo, estabelece que no conceito,
para as finalidades da Lei, se enquadram as seguintes atividades:
a) assistncia social;
b) promoo da cultura, defesa e conservao do patrimnio histrico e
artstico;
c) promoo gratuita da educao ou da sade;
d) promoo da segurana alimentar e nutricional;
e) defesa, preservao e conservao do meio ambiente e promoo do
desenvolvimento sustentvel;
f) promoo do voluntariado;
g) promoo do desenvolvimento econmico e social e combate pobreza;
h) experimentao, no lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de
sistemas alternativos de produo, comrcio, emprego e crdito;
i) promoo de direitos estabelecidos, construo de novos direitos e
assessoria jurdica gratuita de interesse suplementar;
j) promoo da tica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais;
l) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produo e divulgao de informaes e conhecimentos tcnicos e
cientficos.
3.3.3. PESSOAS QUE NO PODEM SER QUALIFICADAS COMO ORGANIZAO
DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE COLETIVO
O art. 2 veda a algumas pessoas jurdicas a possibilidade de obter a qualificao
como OSCIP, mesmo se exercerem alguma das atividades elencadas no tpico
anterior. So elas:
a) as sociedades comerciais, sindicatos, associaes de classe ou de
representao de categoria profissional;
b) as instituies religiosas ou voltadas para a disseminao de credos,
cultos, prticas e vises devocionais e confessionais;
c) as organizaes partidrias e assemelhadas, inclusive suas fundaes;
d) as entidades de benefcio mtuo destinadas a proporcionar bens ou
servios a um crculo restrito de associados ou scios;
e) as entidades e empresas que comercializam planos de sade e
assemelhados;
f) as instituies hospitalares privadas no gratuitas e suas mantenedoras;
g) as escolas privadas dedicadas ao ensino formal no gratuito e suas
mantenedoras;
h) as organizaes sociais;
i) as cooperativas;
j) as fundaes pblicas;
l) as fundaes, sociedades civis ou associaes de direito privado criadas
por rgo pblico ou por fundaes pblicas;
m) as organizaes creditcias que tenham quaisquer tipos de vinculao
com o Sistema Financeiro Nacional a que se refere o art. 192 da
Constituio Federal.
3.3.4. APROVAO DA QUALIFICAO
Segundo os art. 5 e 6 da Lei, a pessoa jurdica interessada em se qualificar como
OSCIP dever protocolar seu requerimento no Ministrio da Justia, que,
verificando o atendimento dos requisitos previstos na Lei, deferir o pedido e expedir
o certificado de qualificao.
O Ministrio da Justia atua vinculamente, pois s poder indeferir o pedido de
qualificao se a requerente:
- no atuar em algumas das reas arroladas no art. 3 da Lei;
- no preencher alguns dos requisitos do art. 4 da lei;
- corresponder a alguma das pessoas jurdicas a quem vedado obter a
qualificao;
- apresentar documentao incompleta.
3.3.5. FORMALIZAO DA PARCERIA
A qualificao como OSCIP requer a celebrao de um termo de parceria, no qual
dever constar, minudentemente, os direitos e obrigaes dos seus signatrios, os
resultados a serem alcanados, o prazo para tanto e os critrios de avaliao do
desempenho da entidade, a obrigatoriedade desta de apresentar anualmente um
relatrio acerca de suas atividades e a prestao de contas da gesto financeira, entre
outros assuntos.
3.3.6. CONTROLE
Segundo o art. 11, a execuo do termo de parceria ser supervisionada pelo
rgo do Poder Pblico da rea de atuao da atividade fomentada e pelos Conselhos
de Polticas Pblicas das reas correspondentes de atuao existentes, em cada
nvel de governo.
Os resultados atingidos devero ser analisados por uma comisso de avaliao,
composta de comum acordo entre o rgo parceiro e a entidade. A comisso
eleborar relatrio conclusivo sobre os resultados obtidos.
O art. 12 estabelece para os responsveis pela fiscalizao do cumprimento do
termo de parceria, sob pena de responsabilidade solidria, a obrigao de darem
cincia de qualquer irregularidade quanto utilizao de recursos e bens pblicos ao
Tribunal de Constas e ao Ministrio Pblico.
Ocorrendo malversao de bens ou recursos de origem pblica, os responsveis
pela fiscalizao representaro ao Ministrio Pblico, Advocacia-Geral da Unio ou
Procuradoria da entidade, para que seja requerida ao juzo competente a decretao
da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqestro dos bens de seus dirigentes,
bem assim de agente pblico ou terceiro que possam ter enriquecido ilicitamente ou
causado dano ao patrimnio pblico.
3.3.7. DESQUALIFICAO DA ENTIDADE COMO ORGANIZAO DA
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE COLETIVO
A entidade, se aps o incio da execuo do termo de parceria, deixar de satisfazer
as condies da Lei, perder a qualificao. Para tanto, indispensvel a instaurao
de um processo administrativo, a pedido do Ministrio Pblico ou de qualquer
cidado, no qual sejam observados os princpios do contraditrio e da ampla defesa.
3.3.8. DISTINES ENTRE ORGANIZAO SOCIAL E ORGANIZAO DA
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE COLETIVO
Em muito se assemelham as organizaes sociais e as OSCIP. Todavia, algumas
diferenas podem ser apontadas. Dentre elas podemos citar:
a) aprovao do pedido de qualificao: o requerimento para a
qualificao como organizao social deve ser aprovado pelo Ministro
ou titular de rgo fiscalizador ou regulador da rea de atividade
correspondente da entidade, e pelo Ministro da Administrao Federal
e Reforma do Estado; ao passo que o pedido para qualificao como
OSCIP depende da anuncia do Ministrio da Justia;
b) a deciso acerca da qualificao de uma entidade como organizao
social discricionria, j a deciso para qualificar uma entidade como
OSCIP vinculada;
c) participao de agentes do Poder Pblico na estrutura da entidade: a
participao de agentes do Poder Pblico no Conselho de Administrao
obrigatria nas organizaes sociais; para as OSCIP no h exigncia
semelhante;
d) instrumento da formalizao do vnculo: nas organizaes sociais a
parceria entre a entidade privada e o Poder Pblico formalizada por
contrato de gesto; nas organizaes da sociedade civil de interesse
pblico, por termo de parceria;
e) exigncias de ordem contbil/fiscal: para a entidade privada qualificar-se
como organizao da sociedade civil de interesse coletivo so exigidos,
entre outros documentos, o balano patrimonial e o demonstrativo de
resultados do exerccio, bem como a declarao de iseno do imposto
de renda; para a qualificao como organizao social no h exigncias
similares;
f) a Lei 9.637/98 especificou as modalidades de fomento aplicveis s
organizaes sociais, j a lei 9.790/99 no fez o mesmo quanto s
OSCIP.
Finalizando, vale transcrever a lio da Professora Maria Sylvia Di Pietro, a qual
declara que nas organizaes sociais, o intuito evidente o de que elas assumam
determinadas atividades hoje desempenhadas, como servios pblicos, por entidades
da Administrao Pblica, resultando na extino destas ltimas. Nas organizaes da
sociedade civil de interesse coletivo, essa inteno no resulta, implcita ou
explicitamente, da lei, pois a qualificao da entidade como tal no afeta em nada a
existncia ou as atribuies de entidades ou rgos integrantes da Administrao
Pblica. Alm disso, a entidade privada, para ser qualificada como, tem que ter
existncia legal, j que, entre os documentos exigidos para obteno de sua
qualificao, esto o balano patrimonial e demonstrativo de resultados do exerccio
e a declarao de iseno do imposto de renda (art. 5, III e IV, da Lei n 9.790/99).
Isto evita que entidades fantasmas, sem qualquer patrimnio e sem existncia real,
venham a pleitear o benefcio.
4. AGNCIAS EXECUTIVAS
Na lio de Maria Sylvia di Pietro, agncia executiva a qualificao dada
autarquia ou fundao que tenha celebrado contrato de gesto com o rgo da
Administrao Direta a que se acha vinculada, para melhoria da eficincia e reduo de
custos. Em regra, no se trata de entidade instituda com a denominao de agncia
executiva. Trata-se de entidade preexistente (autarquia ou fundao governamental)
que, uma vez prenchidos os requisitos legais, recebe a qualificao de agncia
executiva, podendo perd-la, se deixar de atender aos mesmos requisitos.
Trata-se, enfim, de mais uma figura jurdica mediante a qual se pretende a
reduo da rigidez dos controles administrativos tradicionais, aumentando-se a
autonomia gerencial da entidade, em troca do do cumprimento de determinadas metas
estabelecidas num contrato de gesto.
Em nvel federal, essas entidades esto disciplinadas pela Lei 9.648/98 e pelos
Decretos n 2.487/98 e 2.488/98. O 1 do art. 1 do Decreto n2.487/98 reza que a
qualificao da entidade como agncia executiva depende de iniciativa do Ministrio
supervisor e anuncia do Ministrio da Administrao Federal e Reforma do Estado,
dependendo a outorga do preenchimento de dois requisitos pela entidade:
- a celebrao de contrato de gesto com o respectivo Ministrio Supervisor;
- a existncia de um plano estratgico de reestruturao e de desenvolvimento
institucional, voltado para a melhoria da qualidade de gesto e para a reduo de
custos, j concludo ou em andamento.
Conforme o 1
o
do art. 52 da Lei 9.648/98, os contratos de gesto das agncias
executivas tero a durao mnima de um ano, e estabelecero os objetivos, metas
e critrios de avaliao da entidade, bem como os recursos necessrios para seu
atingimento. Alm disso, delinearo as medidas cabveis para o fortalecimento da
autonomia da entidade, as punies no caso de no atingimento das metas e as
condies para a reviso, a renovao e a reviso do ajuste, entre outros pontos de
previso obrigatria.
Vale observar que a celebrao do contrato de gesto entre a entidade e o
Ministrio supervisor condio para a obteno da designao como agncia
executiva, e no o instrumento por meio do qual a mesma concedida. por decreto
do chefe do Poder Executivo que a concesso feita. Alm disso, a elaborao de um
plano de reestruturao e de desenvolvimento institucional condio necessria mas
no suficiente, pois o mesmo ter que estar j concludo ou ao menos em
andamento para que possa a entidade ser entitulada como agncia executiva.
A Lei 9.648/98 alterou o art. 24 da Lei de Licitaes, instituindo um benenefcio
adicional para as autarquias e fundaes qualificadas como agncias executivas, que
passam a gozar de um limite duplicado para a dispensa do processo licitatrio,
comparativamente s autarquias e fundaes que no tenham tal qualificao.
Frise-se, por fim, que a figura administrativa aqui analisada tem por intuito
melhorar a eficincia das autarquias e fundaes pblicas. No contrato de gesto,
que requisito para a designao como agncia executiva, sero acordadas metas de
desempenho para a entidade, a qual, em troca, passar a gozar de maior
autonomia para atingi-las. A necessidade da existncia de um plano de
reestruturao e de desenvolvimento institucional no apenas concebido, mas em
funcionamento ou j concludo, refora esse entendimento.
5. AGNCIAS REGULADORAS
5.1. ORIGEM E CONCEITO
O nascimento das agncias reguladoras decorreu do processo de privatizao
de servios pblicos promovido no Brasil em poca recente, principalmente na
dcada passada. O Estado transferiu ao setor privado determinadas atividades at
ento por ele diretamente exercidas, tais como os servios de telecomunicaes e de
fornecimento de energia eltrica. Entretanto, apesar da sua retirada da prestao
direta desses servios, no teria o Estado como se furtar a continuar neles intervindo,
por meio de sua regulao e fiscalizao. Para tanto, instituiu as agncias
reguladoras.
Face sua recente insero em nosso ordenamento jurdico, a doutrina ptria no
chegou ainda a uma definio cientfica das agncias reguladoras brasileiras. O
Professor Marcelo Alexandrino, mesmo presente tal dificuldade, nos oferece o seguinte
conceito:
Trata-se de entidades administrativas com alto grau de especializao tcnica,
integrantes da estrutura formal da Administrao Pblica, no mais das vezes
institudas sob a forma de autarquias de regime especial, com a funo de regular um
setor especfico de atividade econmica, ou de intervir de forma geral sobre relaes
jurdicas decorrentes destas atividades, que devem atuar com a maior independncia
possvel perante o Poder Executivo e com imparcialidade com relao s partes
interessadas (Estado, setores regulados e sociedade).
5.2. MODALIDADES
Segundo a professora Di pietro, h dois tipos de agncias reguladoras em nosso
ordenamento jurdico:
1) as que exercem poder de polcia, a partir de limitaes administrativas
determinadas em lei, de que so exemplos a Agncia nacional de Sade Pblica
Complementar (ANS), criada pela Lei 9.961/2.000, e a Agncia nacional de Vigilncia
Sanitria (Anvisa), instituda pela Lei. 9.872/99;
2) as que exercem poder regulatrio e fiscalizatrio de atividades objeto de
concesso, permisso ou autorizao de servio pblico (energia eltrica,
telecomunicaes etc), ou de concesso para explorao de bem pblico
(petrleo, p. ex.).
Segundo a autora, as primeiras no representam grande novidade, pois se
assemelham a outros rgos j existentes no cenrio jurdico, a exemplo da Secretaria
da Receita Federal. Basicamente, expedem atos normativos para detalhar e conferir
aplicabilidade s leis que estabelecem as limitaes administrativas, fiscalizam seu
cumprimento e sancionam os seus infratores.
As segundas constituem efetivamente inovao, pois vm substituindo a
Administrao Direta na concesso, permisso, ou autorizao de servios pblicos, ou
mesmo na concesso de uso de bem pblico (art. 177, CF).
Nas pavavras da Professora Di pietro, as atribuies das agncias reguladoras, no
que diz respeito concesso, permisso e autorizao de servio pblico resumem-se
ou deveriam resumir-se s funes que o poder concedente exerce nesses tipos de
contratos ou atos de delegao: regulamentar os servios que constituem objeto de
delegao, realizar o procedimento licitatrio para escolha do concessionrio,
permissionrio ou autorizatrio, celebrar o contrato de concesso ou permisso ou
praticar ato unilateral de outorga de autorizao, definir o valor da tarifa e da sua
reviso ou reajuste, controlar a execuo dos servios, aplicar sanes, encampar,
decretar a caducidade, intervir, fazer a resciso amigvel, fazer a reverso dos bens ao
trmino da concesso, exercer o papel de ouvidor de denncias e reclamaes dos
usurios, enfim, exercer todas as prerrogativas que a lei outorga ao Poder Pblico na
concesso, permisso e autorizao. Isso significa que a lei, ao criar a agncia
reguladora, est tirando do Poder Executivo todas essas atribuies para coloc-las
nas mos da agncia.
Em verdade, apesar da classificao da professora Di Pietro, o fato que as
agncias reguladoras que atuam junto s concesses, permisses e autorizaes de
determinado servio ou bem pblico exercem todas as atribuies indicadas acima, ou
seja, normatizam o servio, delegam-no, fiscalizam sua prestao e aplicam sanes
aos infratores, entre outras atribuies.
5.3. FORMA JURDICA
Nesse ponto, valemo-nos mais uma vez do forte trabalho do Professor Marcelo:
Em sntese, as atuais agncias reguladoras tm sido institudas sob a forma de
autarquias. Com isso, podem exercer atribuies tpicas do Poder Pblico, uma vez que
possuem personalidade jurdica de direito pblico. Entretanto, sendo autarquias,
integram formalmente a Administrao Pblica, estando sujeitas a todos os controles
constitucionalmente previstos. Para conferir maior independncia s agncias
reguladoras, caracterstica essencial do modelo que se pretendeu adotar no Brasil, o
legislador tem atribudo a elas o status de autarquia em regime especial, o que si
traduzir-se, nos termos de cada lei instituidora, em prerrogativas especiais,
normalmente relacionadas ampliao de sua autonomia administrativa e financeira.
A opo do legislador se deve ao fato de que, segundo entende o STF, apenas
pessoas jurdicas de direito pblico podem exercer atribuies tpicas de Estado. Como
no resta dvida de que as agncias reguladoras exercem funes tipicamentes
estatais, de regulao e fiscalizao, no poderiam ser institudas com figurino de
direito privado.
Por outro lado, uma das caractersticas fundamental, se no a principal
caracterstica das agncias reguladoras, tal como importadas do direito europeu, o
fato de elas terem significativa independncia com relao ao poder Executivo. Dessa
forma, impraticvel a insero delas na Administrao Direta, na condio de rgos
do Estado.
Levando-se em condio esses dois fatores, o legislador optou por instituir as
agncias reguladoras como autarquias de regime especial. Apesar de seu
enquadramento na estrutura formal da Administrao, s agncias foram outorgadas
diversas garantias, que lhes aseguram, em maior ou menor grau, conforme a
respectiva lei institudora, uma margem de independncia em relao ao Poder
Executivo.
Para exemplificar reproduzimos a seguir o art. 8, 2, da Lei 9.472/97, que trata
da ANATEL:
A natureza de autarquia especial conferida Agncia caracterizada
por independncia administrativa, ausncia de subordinao hierrquica,
mandato fixo e seus dirigentes e autonomia financeira.
5.4. ASSUNTOS EM GERAL
Cabe ressaltar que a ANATEL (Agncia Nacional de Telecomunicaes) e a ANP
(Agncia Nacional de Petrleo), so as duas nicas agncias com previso expressa na
Constituio, a saber, respectivamente, no art. 21, XI e no art. 177, 2. As demais
agncias reguladoras so criadas exclusivamente por lei.
Por sua vez, a ANEEL (Agncia nacional de Energia Eltrica) e a ANS so,
concomitantemente, agncias executivas.
Quanto licitao, a Lei 9.986/2000, estabeleceu que s contrataes de obras
e servios de engenharia celebradas pelas agncias reguladoras sero disciplinadas
pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitaes). Nos demais casos ser aplicado o prego e a
consulta. Esta, como se percebe, uma modalidade indita de licitao,
inconstitucional para muitos de nossos doutrinadores. Apesar de sua previso legal,
at hoje no foi disciplinada.
5.5. CARACTERSTICAS
So amplas as reas de atuao das agncias reguladoras, e extremamente
diversificadas as prerrogativas e atribuies de cada uma delas. Na verdade, a lei que
institui determinada agncia reguladora estabele um perfil especfico para a entidade,
considerando todas as variveis do setor em que a mesma atuar e a forma e o grau
de interveno que sobre o mesmo incidir.
Todavia, a partir da anlise das leis que criaram as principais agncias reguladoras
brasileiras, podemos identificar um ncleo de caractersticas comuns dessas entidades,
o que nos leva a considerar como seus traos mais relevantes:
1) tm como funo regular e fiscalizar determinado setor da atividade
econmica ou relaes jurdicas decorrentes das atividades econmicas em
geral: no exerccio dessa funo as agncias reguladoras editam atos normativos
relacionados ao setor econmico que regulam, solucionam os conflitos surgidos
entre seus diversos participantes (Estado, setor econmico regulado, usurios dos
servios e a sociedade em geral), fiscalizam o cumprimento de suas determinaes
normativas e das leis, aplicam sanes aos seus infratores, entre outras atribuies;
2) tm relativa independncia com relao ao Poder Executivo: as leis
especficas que instituram as agncias reguladoras conferiram-lhes prerrogativas
especiais, a fim de assegurar-lhes uma relativa autonomia decisria frente ao
Poder Executivo. Entre as prerrogativas podemos citar a estabilidade de seus
dirigentes (investidos em mandato de durao determinada, s podendo ser
afastados antes de seu trmino pelo cometimento de ilcitos, por descumprimento da
poltica legalmente definida para o setor, ou quando se encerra o mandato do Chefe do
Executivo responsvel por sua nomeao); a estipulao, quando possvel, de fontes
prprias de recursos, decorrentes do prprio exerccio de sua funo regulatria e
fiscalizatria; a inexistncia de subordinao hierrquica a qualquer rgo ou
entidade da Administrao; a escolha de seus dirigentes por critrios tcnicos, com a
participao do Poder Legislativo etc;
3) possuem uma abrangente competncia normativa sobre as reas nas quais
atuam, efetivamente inovando na ordem jurdica: essa caracterstica das agncias
reguladoras tem gerado intensa polmica, considerando a doutrina mais tradicional
inconstitucional essa atribuio. Aqueles que a consideram legtima esclarecem que ela
no abrange as matrias reservadas pela Constituio lei formal, pressupe lei
anterior que estabelea os parmetros dentro dos quais tais atos normativos
complementares podem ser validamente editados, sendo nula a delegao legislativa
em branco, e abrange exclusivamente os aspectos pertinentes ao respectivo setor
econmico regulado pela agncia, alm de sujeitar-se aos controles legislativo e
judicial.
Com relao garantia de estabilidade outorgada aos dirigentes das agncias
reguladoras, a mesma decorre do fato de que todos eles exercem mandato de durao
fixa, s podem perd-lo nas condies elencadas em lei.
O art. 9
o
da Lei n
o
9.986/2000, aplicvel a todas as agncias reguladoras, a
norma que disciplina o assunto. Sua redao a seguinte:
Art. 9
o
Os Conselheiros e os Diretores somente perdero o mandato em
caso de renncia, de condenao judicial transitada em julgado ou
de processo administrativo disciplinar.
Pargrafo nico. A lei de criao da Agncia poder prever outras
condies para a perda do mandato (grifos nossos)
Alm disso, todos os dirigentes das agncias reguladoras federais no so
nomeados por ato simples do presidente da Repblica, mas apenas aps a aprovao
de seu nome no Senado federal.
O art. 5 da lei 9.986/2000 tornou tal sistemtica obrigatria para todas as
agncias federais, nos seguintes termos:
Art. 5
o
O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e
os demais membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) sero
brasileiros, de reputao ilibada, formao universitria e elevado
conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais sero
nomeados, devendo ser escolhidos pelo Presidente da Repblica e por
ele nomeados, aps aprovao pelo Senado Federal, nos termos da
alnea f do inciso III do art. 52 da Constituio Federal.
A Lei 9.986/200, no art. 8, prev, ainda, um perodo de quarentena
obrigatrio aos ex-dirigentes das agncias reguladoras federais, ou seja, um perodo
no qual ele est impedido de atuar na rea concernente ao setor regulado.
o teor do dispositivo:
Art. 8
o
O ex-dirigente fica impedido para o exerccio de
atividades ou de prestar qualquer servio no setor regulado pela
respectiva agncia, por um perodo de quatro meses, contados da
exonerao ou do trmino do seu mandato.
1
o
Inclui-se no perodo a que se refere o caput eventuais perodos
de frias no gozadas.
2
o
Durante o impedimento, o ex-dirigente ficar vinculado
agncia, fazendo jus remunerao compensatria equivalente do
cargo de direo que exerceu e aos benefcios a ele inerentes.
3
o
Aplica-se o disposto neste artigo ao ex-dirigente exonerado a
pedido, se este j tiver cumprido pelo menos seis meses do seu
mandato.
4
o
Incorre na prtica de crime de advocacia administrativa,
sujeitando-se s penas da lei, o ex-dirigente que violar o impedimento
previsto neste artigo, sem prejuzo das demais sanes cabveis,
administrativas e civis.
5
o
Na hiptese de o ex-dirigente ser servidor pblico, poder ele
optar pela aplicao do disposto no 2
o
, ou pelo retorno ao
desempenho das funes de seu cargo efetivo ou emprego pblico,
desde que no haja conflito de interesse.
A quarentena dos ex-dirigentes justificada pelo que se denomina risco de
captura, que significa, para a maioria da doutrina, a possibilidade de o agente estatal
passar a atuar tendenciosamente em favor dos grupos econmicos titulares de
concesso, permisso ou autorizao no setor regulado. Com a quarentena tal risco
fica menor, pois com ela se impede que o ex-dirigente, ao final de seu mandato, possa
imediatamente fornecer informaes valiosas sobre o referido setor. Alguns autores
conferem um sentido maior expresso risco de captura, utilizando-a para designar
qualquer hiptese em que o agente administrativo atua tendenciosamente a favor de
um dos personagens do seto regulado, sejam os detentores do poder econmico,
sejam os usurios, ou mesmo o Poder Pblico.
Por sua vez, quanto ao poder normativo passvel de acionamento pelas
agncias reguladoras, transcrevemos a sntese elaborada por Vicente paulo e Marcelo
Alexandrino:
1) As leis que instituram as atuais agncias reguladoras conferiram-
lhes o exerccio de um abrangente poder normativo no que respeita s
reas de sua atuao;
2) Esse exerccio de poder normativo pelas agncias (que so autarquias)
exige que determinados dispositivos constitucionais sejam interpretados
com alto grau de elasticidade, o que faz com que a corrente mais
tradicional de nossa doutrina considere totalmente inconstitucionais
essas atribuies, especialmente no caso das agncias criadas
exclusivamente pela lei (ou seja, todas, exceto a ANATEL e a ANP, nicas
que encontram base constitucional expressa);
3) Os autores que entendem possvel essa atribuio de poder normativo s
agncias reguladoras, aos quais nos juntamos, ressaltam que ele no
poder ser exercido quanto s matrias reservadas lei, pela
Constituio;
4) Alm disso, as agncias somente podem editar atos secundrios. Tais
atos sero atos normativos delegados ou autorizados pela lei, restritos
s reas tcnicas de competncia da agncia. inegvel que esses atos
criam, modificam ou extinguem direitos (so mais do que meros
regulamentos de execuo), mas devem sempre ser editados nos termos
da lei e observando as balizas legais;
5) Os atos normativos editados pelas agncias no so, entretanto,
regulamentos autnomos, pois defluem da lei, no da Constituio;
6) inconstitucional a delegao legislativa em branco;
7) Os atos normativos das agncias reguladoras esto sujeitos ao
permanente controle legislativo e, sempre que provocado, ao controle
judicial ...
5.6. CONTROLE
Inobstante as peculiariedades de cada uma de nossas agncias reguladoras, aos
atos por elas praticados aplicam-se todas as modalidades de controle sobre atos
administrativos previstas na Constituio.
Alm disso, foi em muito fortalecida a participao popular no controle e
fiscalizao das agncias reguladoras. Nas palavras do Professor Marcelo, alm dos
mecanismos j tradicionais de controle popular (provocao do Poder Judicirio e da
prpria Administrao), as leis instituidoras das mais importantes agncias reguladoras
(ANATEL, ANEEL, ANP etc.) consagraram como instrumento de participao popular
ativa a consulta pblica e a audincia pblica. As leis instituidoras dessas agncias
estabeleceram procedimentos administrativos bem definidos no que concerne edio
de atos normativos, de instrumentos convocatrios, de processos decisrios, enfim, de
um modo geral, as leis estabelecem como obrigatria a consulta ou audincia pblica
prvia dos agentes econmicos ou de consumidores e usurios de bens e servios do
setor regulado sempre que deva ser editado um ato ou tomada uma deciso que possa
afetar seus direitos. A minuta do ato administrativo deve ser disponibilizada (mediante
publicao no Dirio Oficial da Unio e/ou na internet) para o pblico em geral, que
ter um prazo, ou uma data marcada, para manifestar-se a respeito, formulando
crticas ou sugestes, as quais, tambm, devem ser tornadas pblicas.
O controle efetuado pelo Poder Executivo sobre as agncias reguladoras assim
resumido por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:
Em resumo, entendemos que o controle exercido pelo Poder Executivo sobre
as agncias reguladoras no radicalmente diferente daquele exercido sobre as
demais autarquias integrantes da Administrao Indireta. O que se verifica que as
leis, tendo em vista sobretudo a necessidade de transmitir segurana aos investidores
privados, dotaram as agncias reguladoras de determinados instrumentos que
ampliam (de forma varivel, dependendo da agncia) sua autonomia perante o poder
poltico. Essas leis, entretanto, devem (isso mais do que evidente) ser interpretadas
em consonncia com nossas normas e princpios constitucionais. No existindo um
instrumento expresso na lei, destinado a limitar a atuao da Administrao
Centralizada (e desde que esse instrumento no seja inconstitucional), o controle
exercido pelo Poder Executivo ser exercido da mesma forma que o sobre as outras
autarquias federais.
5.7. REGIME DE PESSOAL
Com relao natureza do regime jurdico do pessoal das agncias reguladoras,
cabe relembrarmos que a EC 19/98 extinguiu a obrigatoriedade de adoo do regime
jurdico nico para os servidores da Administrao direta, autrquica e fundacional, os
quais podem atualmente ser admitidos sob regimes jurdicos diversos, de carter
estatutrio ou contratual, conforme o caso.
Tal opo, todavia, no fica ao livre critrio da Administrao, pois h
determinadas funes que exigem para sua satisfatria execuo que o agente pblico
tenha algumas garantias existentes apenas no regime estatutrio, dentre as quais a
mais importante a estabilidade.
Fizemos essa ressalva com o intuito de esclarecer o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal com relao ao regime de pessoal passvel de adoo pelas
agncias reguladoras. Entende a Corte que a natureza da atividade desempenhada por
tais entidades requer necessariamente que seus servidores tenham certas garantias
tpicas do regime estatutrio, no se compatibilizando com o regime de emprego
publico. Em face desse entendimento foi liminarmente suspensa, na ADIn 2.310-1-DF,
a aplicao do art 1 da Lei 9.986/2.000, que estabelecia o regime de emprego pblico
para as agncias reguladoras
Em virtude dessa deciso da Corte, a Medida Provisria n 155, de 23 de dezembro
de 2003, que trata da criao de carreiras e da organizao dos cargos efetivos das
agncias reguladoras, em seu artigo 6, estabelece que os agentes responsveis pelo
desempenho das atribuies tpicas dessas devem ser servidores pblicos
estatutrios, regrados pelo regime posto na Lei n 8.112/1990.
O art. 3 da Medida provisria, por sua vez, estatui que aos servidores dessas
entidades, quando no exerccio das atribuies de natureza fiscal ou decorrentes do
poder de polcia, so asseguradas as prerrogativas de promover a interdio de
estabelecimentos, instalaes ou equipamentos, assim como a apreenso de bens ou
produtos, e de requisitar, quando necessrio, o auxlio de fora policial federal ou
estadual, em caso de desacato ou embarao ao exerccio de suas funes.
QUESTES DE PROVAS ANTERIORES DO CESPE
NOVAS FIGURAS ADMINISTRATIVAS E TERCEIRO SETOR
1. (Juiz Substituto TJ RN/1999) - As organizaes sociais so
(A) rgos pertencentes Administrao direta, tendo por objeto o desenvolvimento
de atividades relacionadas ao ensino, pesquisa cientfica, ao desenvolvimento
tecnolgico, proteo e preservao da meia ambiente, cultura e sade.
(B) autarquias, declaradas entidades de interesse social e utilidade
pblica pana todos os efeitos legais.
(C) sociedades de economia mista, criadas por lei ou decreto, sem fins lucrativos,
administradas por conselho do qual participam representantes do poder pblico.
(D) fundaes de direito pblico, cujo patrimnio formado parcialmente com recursos
pblicos, votadas ao desenvolvimento de atividades soais previstas na lei ou decreto
que as cria.
(E) pessoas jurdicas de direto privado que, preenchendo os requisitos legais, podem
celebrar contratos de gesto com o poder pblico para a formao de parceria na
fomento e execuo de determinadas atividades.
2 (Analista judicirio rea Judiciria TRT 6 regio/2002) - As agncias reguladoras
constituem espcie distinta de ente da administrao pblica indireta: no so
autarquias nem empresas pblicas; possuem personalidade jurdica de direito privado,
amplos poderes normativos e seus dirigentes no so demissveis ad nutum.
3 (Analista Judicirio rea Administrativa TST/2003) - exemplo de ato vinculado
a assinatura do termo de parceria, que qualifica as pessoas jurdicas de direito privado
sem fins lucrativos como organizaes da sociedade civil de interesse pblico. No
pode, nesse caso, a administrao deixar de conceder tal qualificao s entidades que
tenham cumprido os requisitos institudos pela Lei n. 9.790/1999.
4 (Tcnico Judicirio rea Administrativa TST/2003) - A autonomia gerencial,
oramentria e financeira das entidades da administrao indireta poder ser ampliada
mediante contrato que tenha por objeto a fixao de metas de desempenho para a
entidade, cabendo lei dispor sobre o prazo de durao do contrato, os controles e
critrios de avaliao de desempenho, os direitos, as obrigaes e as responsabilidades
dos dirigentes e a remunerao do pessoal. Os rgos da administrao direta, por sua
vez, esto impedidos de fazer semelhante pactuao em razo de no terem
personalidade jurdica prpria.
5. (Advogado da unio/Nov 2002) - Acerca da centralizao e da descentralizao da
atividade administrativa do Estado, da concentrao e da desconcentrao de
competncia, da organizao administrativa e do ato administrativo, julgue os itens a
seguir.
01 As procuradorias da Unio e as procuradorias regionais da Unio, unidades da
Advocacia- Geral da Unio (AGU) com finalidade de execuo, so exemplos do
mecanismo administrativo da descentralizao de competncias, que se destina
busca de maior eficincia da atuao estatal.
02 Segundo a doutrina, para maior eficincia na atuao das agncias executivas,
estas podem apresentar qualquer forma jurdica legalmente prevista, como atualmente
ocorre com agncias que tm a natureza jurdica de autarquias, fundaes ou
empresas pblicas.
03 A doutrina administrativista brasileira considera que as fundaes pblicas tm
natureza de autarquia; seus servidores, portanto, no so regidos pela legislao
trabalhista, representada pela Consolidao das Leis do Trabalho (CLT).
04 A despeito da denominao de empresas pblicas, esses entes, que compem a
administrao pblica indireta, tm personalidade jurdica de direito privado; no
obstante, por outro lado, os atos de seus gestores sujeitam- se a sano aplicvel em
virtude da ao judicial por improbidade administrativa.
6. (Procurador TCE RN/2002) - A retirada do Estado da prestao direta dos servios
ou do exerccio de uma atividade econmica no significa retorno ao Estado liberal. E
isso porque, ao mesmo tempo em que acontece a retrao do Estado na prestao de
servios essenciais e relevantes, impe- se a necessidade de sua regulao indireta, de
modo a garantir controle e fomento dos referidos servios, mesmo depois de sua
transferncia aos particulares.
Nesse contexto, tem- se a criao das agncias reguladoras no Brasil. Acerca dessas
agncias, julgue os itens subseqentes.
01 Caracterizam- se como autarquias de natureza especial, possuindo grau de
autonomia mais intenso que aquele conferido s autarquias comuns e gozando de
prerrogativas estipuladas em suas leis instituidoras, embora submetam- se ao poder
de superviso do ministrio ou secretaria a que se encontrem vinculadas. Assim, em
que pese no poderem atuar em desconformidade com os princpios norteadores da
administrao pblica, principalmente o da legalidade, possuem margem maior de
discricionariedade, com vistas a atender ao novo esprito que rege a atividade estatal.
02 O seu mbito de atuao passa por diversas reas, sendo as mais importantes as
de fiscalizao, regulamentao, regulao e, por vezes, arbitragem e mediao,
porm, sempre dentro dos limites que a lei impe. Quando concebidas, as agncias
foram dotadas de personalidade jurdica de direito privado, sendo cada uma fruto de
uma lei de criao.
03 Reconhece- se, no Brasil, a possibilidade de sua atuao normativa, produzindo
decises que afetem a vida dos administrados, condicionando seus direitos, liberdades
ou atividades econmicas por meio de delegao do Congresso Nacional, isto ,
admite- se poder normativo s agncias, desde que exercido nos estritos limites das
respectivas leis instituidoras.
04 As agncias esto sendo criadas de modo cuidadoso, sendo preservada a sua
independncia em relao ao Poder Executivo, como forma de torn- las isentas de
presses polticas. Contam com alto grau de autonomia, inclusive financeira, pois so
dotadas de verbas prprias. Em virtude disso, o poder jurisdicional conferido aos entes
reguladores, no plano do direito administrativo, no est subordinado ao controle do
Poder Judicirio.
05 Em alguns estados, foram criadas agncias que visam, da mesma forma que as
agncias nacionais, a regular servios delegados. Alm de suas funes especficas, as
agncias estaduais podem firmar convnios com agncias nacionais, com o escopo de
realizar servios de regulao dentro de seu territrio. Entretanto, a possibilidade de
formalizao de convnios depende da lei de constituio das agncias.
7. (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) -Julgue os itens que
se seguem, referentes organizao administrativa.
01 O Estado pode realizar os servios pblicos sociais por meio da administrao
direta, indireta e organizaes da sociedade civil de interesse pblico.
02 No direito brasileiro, os rgos pblicos podem celebrar contratos entre si, visando
maior integrao na execuo direta das polticas pblicas.
03 A hierarquia na administrao pblica confere uma contnua e permanente
autoridade sobre toda atividade administrativa dos agentes subalternos, incluindo o
poder de punir.
04 O recente processo de municipalizao da sade se configura como
descentralizao quando h repasse para pessoa jurdica diversa da administrao
central.
05 O processo de descentralizao equivale ao de desconcentrao, pois ambos
mantm o vnculo hierrquico e o controle entre as pessoas jurdicas.
QUESTO 43
8. (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) -Julgue os itens que
se seguem, referentes s agncias reguladoras.
01 As agncias reguladoras tm natureza de autarquias especiais, vinculam- se ao
ministrio competente para tratar da respectiva atividade, e seus diretores so
nomeados pelo presidente da Repblica, aps aprovao do Senado.
02 Como entidades da administrao direta, as agncias reguladoras tm maior
independncia em relao ao Poder Executivo.
03 O regime especial das agncias refere- se autonomia administrativa e patrimonial
assim como gesto de recursos humanos, que so elementos extrnsecos natureza
de toda e qualquer autarquia.
04 Nota- se na legislao pertinente s agncias reguladoras o propsito de fugir das
formas licitatrias previstas nas normas gerais de licitao.
05 Quanto poltica de recursos humanos, as agncias foram autorizadas admisso
de pessoal tcnico em carter temporrio.
9. (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) -Julgue os itens
seguintes, relativos s organizaes da sociedade civil de interesse pblico (OSCIPs).
01 As OSCIPs so pessoas jurdicas de direito privado, sem fins lucrativos, com
objetivos sociais, que visam execuo de atividades de interesse pblico e privado.
02 As organizaes, para se qualificarem como OSCIPs, dependem da assinatura de
termo de parceria com o poder pblico, instrumento que cria um vnculo de cooperao
entre as partes.
03 As organizaes sociais, desde que se enquadrem nos objetivos e finalidades
indicados pela lei, podero ser qualificadas como OSCIPs.
04 O termo de parceria entre uma OSCIP e a administrao pblica um instrumento
equivalente ao contrato de concesso de servio pblico.
05 Entre as reas de promoo em que se permite a qualificao de OSCIP,
encontram- se as de direitos estabelecidos, construo de novos direitos e assessoria
jurdica gratuita de interesse suplementar.
10 (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) - As agncias
reguladoras tm suas relaes de trabalho regidas pela Consolidao das Leis do
Trabalho e pela legislao trabalhista correlata, em regime de emprego pblico.
11. (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) -Julgue os itens a
seguir, relativos reforma administrativa.
01 A figura dos contratos de gesto como instrumento firmado entre o poder pblico e
as entidades qualificadas de organizaes sociais foi introduzida no direito brasileiro
com a reforma administrativa.
02 Os contratos de gesto podem ter como objeto atividades de ensino, pesquisa
cientfica, desenvolvimento tecnolgico, cultura, sade e segurana pblica.
03 O poder pblico e as organizaes sociais podem celebrar contratos de gesto sem
processo licitatrio.
04 As organizaes sociais, tendo travado contrato de gesto, esto aptas a receber
bens em permisso de uso.
05 As organizaes sociais, assim como as OSCIPs, integram a denominada
administrao indireta, sendo reguladas pelas mesmas normas e princpios do direito
administrativo.
12. (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) -Julgue os seguintes
itens.
01 A recente reforma do Estado brasileiro inclui um Programa Nacional de Publicizao
(PNP), a fim de repassar atividades desenvolvidas por entidades ou rgos pblicos da
Unio para organizaes privadas, denominadas organizaes sociais.
02 A contratualizao no mbito da reforma do Estado refere- se ampliao das
possibilidades do uso de contratos entre o setor pblico e o privado ou o setor pblico
no- estatal.
03 A denominao terceiro setor vem sendo utilizada para caracterizar as OSCIPs
que podero estabelecer vnculo com o Estado por meio de termo de concesso
pblica.
04 A modernizao, o aumento da eficincia nos servios pblicos, o controle e a
participao sociais so argumentos utilizados na justificativa para a realizao da
recente reforma do aparelho burocrtico estatal brasileiro.
05 A legislao referente s organizaes sociais, ao invs de procurar flexibilizar os
meios de atuao da administrao pblica, como licitao, concurso pblico, controle,
contabilidade pblica e oramento, procurou formas paralelas para reforar a rigidez
desses institutos.
13. E A autonomia gerencial, oramentria e financeira das entidades da administrao
indireta poder ser ampliada mediante contrato de gesto, a ser fixado entre seus
administradores e o poder pblico, que tenha por objeto a fixao de metas de
desempenho para a entidade, sendo descabido falar em contrato de gesto assinado
por rgos pblicos, uma vez que estes ltimos no tm personalidade jurdica.
14. C A administrao pblica brasileira, tomada em acepo subjetiva, de acordo com
a letra do Decreto-lei n 200/67, no engloba os servios sociais autnomos.
O prefeito municipal de um pequeno municpio interiorano resolveu organizar a
prestao do servio pblico municipal de coleta do lixo urbano.
15. C Para tal situao, no possvel a criao de uma organizao social, prevista
em lei federal, em razo do seu objeto.
(ESCRIVO DA POLCIA FEDERAL/2002)
16. E As organizaes sociais se encaixariam naquilo que o Plano Diretor da Reforma
do Aparelho de Estado denomina de servios exclusivos, que so aqueles que, por
envolver o poder de Estado, o prprio Estado realiza ou subsidia. O Estado tem
interesse nesses servios porque os considera de alta relevncia para os direitos
humanos ou porque envolvem economias externas.
17. C As organizaes sociais so um modelo de parceria entre o Estado e a sociedade,
regulado por meio de contratos de gesto. O Estado continuar a fomentar as
atividades regidas pelas organizaes sociais publicizadas e exercer sobre elas um
controle estratgico: lhes cobrar os resultados necessrios consecuo dos
objetivos das polticas pblicas.
18. E As organizaes sociais so uma inovao constitucional, pois representam uma
nova figura jurdica. Fazem parte da administrao pblica, embora continuem sendo
pessoas jurdicas de direito privado. A grande novidade repousa mesmo na sua
constituio mediante decreto executivo.
19. C Os responsveis pela fiscalizao da execuo do contrato de gesto da
administrao federal com uma organizao social, ao tomarem conhecimento da
prtica de qualquer irregularidade ou ilegalidade na administrao de recursos ou bens
de origem pblica por essa organizao social, devero dar cincia ao Tribunal de
Contas da Unio, sob pena de responsabilidade solidria.
20. C No se deve entender o modelo proposto para as organizaes sociais como um
simples convnio de transferncia de recursos. Os contratos e as vinculaes mtuas
sero mais profundos e permanentes, uma vez que as dotaes destinadas a essas
instituies integraro o oramento da Unio, cabendo a elas um papel central na
implementao de polticas sociais do Estado.
21 E (Promotor de Justia Substituto MPRR/2001) - Com as mudanas
constitucionais e legais dos ltimos anos, passou-se a falar na existncia das
chamadas agncias executivas, a exemplo da Agncia Nacional do Petrleo e da
Agncia Nacional de Telecomunicaes; a doutrina administrativista brasileira tem-se
firmado no sentido de que essas agncias so atributos das empresas pblicas,
fundaes pblicas ou autarquias, conforme o caso.
Gabarito:
1. E
2. E
3. E
4. C
5. EEEC
6. CEEEC
7. CCCCE
8. CEECC
9. EEEEC
10. *
11. CECCE
12. CCECE
13. E
14. C
15. C
16. E
17. C
18. E
19. C
20. C
21. E
VI. PODERES E DEVERES ADMINISTRATIVOS
1. INTRODUO
Para que os agentes pblicos possam desempenhar a contento suas atribuies, de
forma a satisfazer as necessidades pblicas, a ordem jurdica outorga-lhes
determinadas prerrogativas, denominadas poderes do administrador pblico.
Por outra via, a ordem jurdica impe aos agentes pblicos determinadas
obrigaes especficas, sem paralelo no domnio privado, tambm com a precpua
finalidade de assegurar a consecuo dos interesses pblicos. A tais obrigaes
denominamos deveres do administrador pblico.
2. DEVERES ADMINISTRATIVOS
A doutrina elenca como os principais deveres do administrador pblico o poder-
dever de agir; o dever de eficincia; o dever de prestar contas e o dever de probidade.
2.1. PODER-DEVER DE AGIR
Quando a lei defere determinado poder a um particular, tal outorga tem a natureza
de mera faculdade, ou seja, um poder de que o particular se utilizar apenas se e
quando desejar. Para o agente pblico a soluo exatamente a oposta: cada poder
conferido por lei representa antes de tudo um dever de atuao, sempre que presente
o interesse pblico.
Em outras palavras, sempre que o agente necessitar exercer seu poder para atingir
o fim pblico, ele obrigatoriamente o far. Estamos aqui, frente a um poder-dever
de agir. O agente no opta por desempenhar suas funes, ele obrigatoriamente o
faz, sempre que o interesse pblico o requerer. Em funo disso, comumente afirma-
se que para o agente pblico no existem poderes, mas apenas poderes-deveres. o
que se chama carter dplice dos poderes administrativos.
2.2. DEVER DE EFICINCIA
O dever de eficincia de simples entendimento. O agente, em termos
singulares, tem que desempenhar suas atribuies de forma clere e tecnicamente
perfeita.
A EC 19/98 alou a eficincia a princpio fundamental da Administrao Pblica, ao
alterar o caput do art. 37 da CF. Dentre suas aplicaes diretas, podemos ressaltar a
possibilidade de exonerao do servidor estvel por insuficincia de desempenho e a
necessidade de avaliao especial do servidor como condio para a aquisio da
estabilidade, duas das novidades inseridas no texto constitucional pela EC 19/98.
2.3. DEVER DE PRESTAR CONTAS
O agente pblico lida com recursos que no lhe pertencem, logo, deve prestar
contas acerca de sua utilizao, nos termos da lei. Tal concluso aplica-se tambm
quele que, apesar de no ser agente do Estado, de qualquer forma utiliza bens ou
recursos pblicos. A respeito afirma o Prof. Hely Lopes Meirelles: A regra universal:
quem gere dinheiro pblico ou administra bens ou interesses da comunidade deve
prestar contas ao rgo competente para a fiscalizao.
2.4. DEVER DE PROBIDADE
Conduta proba aquela que se conforma aos preceitos da moral e da tica
administrativas. Assim, o dever de probidade impe uma atuao em consonncia com
tais preceitos, no se confundindo ele com a mera observncia dos aspectos formais
da lei.
Tal dever tambm tem estatura constitucional, estabelecendo o art. 37, 4, da
CF, as sanes para seu descumprimento. A redao do dispositivo a seguinte:
4 Os atos de improbidade administrativa importaro a suspenso
dos direitos polticos, a perda da funo pblica, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao errio, na forma e gradao previstas
em lei, sem prejuzo da ao penal cabvel.
A Lei n
o
8.429/92 trata da matria, dispondo sobre os atos de improbidade
administrativa, como analisaremos em outra unidade de estudo.
3. PODERES DO ADMINISTRADOR PBLICO
Como antes afirmado, os poderes administrativos possuem natureza dplice,
sendo na essncia poderes-deveres, prerrogativas de utilizao obrigatria para o
agente, sempre que o exigir o interesse pblico.
Os principais poderes conferidos aos agentes pblicos so a seguir apresentados.
3.1. PODER VINCULADO
Tem lugar o denominado poder vinculado quando a lei, ao conferir determinada
competncia Administrao, o faz de forma minudente, sem deixar espao para a
liberdade do administrador. A este resta apenas praticar o ato, na exata forma como o
mesmo est previsto na norma.
Todos os atos administrativos so vinculados quanto competncia,
forma e finalidade. Os atos praticados com base no poder vinculado o so tambm
com relao aos elementos motivo e objeto, ou seja, quanto a eles o administrador
no pode valorar a oportunidade e a convenincia de sua prtica e nem determinar o
seu contedo. Todos esses elementos vm rigidamente previstos na norma de
competncia, cabendo ao agente apenas dar-lhes aplicao.
3.2. PODER DISCRICIONRIO
Em determinadas hipteses, a lei confere ao administrador certa margem de
liberdade na produo do ato administrativo, permitindo-lhe que decida acerca da
convenincia e da oportunidade de sua prtica, por meio da escolha de seu objeto
e da valorao de seus motivos. Quando a lei confere esta prerrogativa ao
administrador, dizemos que estamos diante de um ato administrativo discricionrio.
Tais elementos o motivo e o objeto constituem aquilo que doutrinariamente se
denomina mrito administrativo.
A discricionariedade para a realizao de determinado ato tem seus contornos,
obviamente, delineados na norma de competncia, e no pode ser confundida com
arbitrariedade, termo que designa, em qualquer situao, ato praticado em
desconformidade com o ordenamento jurdico e, portanto, nulo.
Todo e qualquer ato administrativo composto por cinco elementos:
competncia, finalidade, forma, motivo e objeto. A discricionariedade incide sobre os
dois ltimos desses elementos, permitindo que o administrador, frente a um caso
concreto e dentro dos parmetros legais, adote o ato administrativo que considerar
mais oportuno e conveniente para satisfazer o interesse pblico.
Os demais elementos do ato discricionrio competncia, finalidade e forma
so vinculados, ou seja, vm expressamente previstos em lei, no havendo aqui
qualquer margem de liberdade. Qualquer ato administrativo s pode ser praticado pelo
agente competente, na forma prescrita na lei e visando ao interesse pblico. Quando,
satisfeitos esses trs requisitos, a lei permite ao administrador que, dentro dos seus
parmetros, valore o motivo para a produo do ato e determine seu objeto,
estaremos diante de um ato administrativo discricionrio.
A lei, portanto, outorga ao administrador um espao de deciso, dentro do
qual poder ele apreciar dois dos elementos constitutivos do ato administrativo: o
motivo e o objeto.
Quanto ao segundo elemento, o ato discricionrio quando a lei prev diversos
objetos possveis para se atingir determinado fim. o que ocorre, por exemplo,
quando um supermercado comercializa gneros alimentcios com prazo de validade
expirado, podendo o agente, nesse caso, alm de apreender os alimentos
deteriorados, optar pela lavratura de uma multa ou pela interdio temporria do
estabelecimento. Qualquer das atitudes da autoridade administrativa a multa ou a
interdio so idneas para atingir a finalidade buscada, a defesa do interesse
pblico mediante a punio da empresa, o que nos permite inferir que, no caso,
estamos diante de um ato discricionrio.
evidente que, em vista dos princpios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a medida punitiva adotada pelo agente pblico, em uma dada situao em concreto,
dever obedecer aos requisitos da necessidade, adequao e proporcionalidade com
relao finalidade visada, sob pena de nulidade.
Quanto ao motivo, ser ele discricionrio quando a lei estabelecer determinada
competncia sem determin-lo com exatido, autorizando o administrador a valor-lo
com certa liberdade. o que ocorre, por exemplo, na exonerao do servidor ocupante
de cargo em comisso, medida que pode ser adotada pela autoridade por qualquer
motivo que ela considere caracterizador de desempenho insatisfatrio.
O motivo tambm discricionrio quando a lei atrela-o a determinada competncia
utilizando-se de conceitos jurdicos vagos, indeterminados. o que se verifica quando
a lei, estabelecendo a competncia para punir um servidor, estatui como motivo para o
ato punitivo a prtica de falta grave, conduta desidiosa, ou comportamento
inadequado, entre outras expresses similares.
Tais conceitos permitem uma ampla valorao do motivo da punio, j que a
determinao, caso a caso, de qual conduta constitui uma falta grave, por exemplo,
passa por uma anlise necessariamente subjetiva, discricionria, da autoridade.
Quanto possibilidade de controle judicial sobre os atos discricionrios, no resta
qualquer dvida. O Poder Judicirio competente para apreciar os atos discricionrios
emitidos pela Administrao, uma vez que trs de seus elementos a competncia, a
finalidade e a forma so vinculados. Compete ao magistrado aferir a compatibilidade
desses elementos com a lei de regncia e, em considerando que algum deles no foi
atendido, anular o ato administrativo, por ilegalidade.
O que no permitido ao Judicirio alterar ou revogar a deciso de mrito
tomada pela Administrao, ou seja, a posio por esta adotada, dentro dos limites da
lei, acerca da convenincia e da oportunidade da prtica do ato, por meio da
determinao de seu objeto e da valorao de seus motivos. Tal juzo atribuio
exclusiva da Administrao, no sendo possvel sua alterao na esfera jurisdicional. A
Administrao, e apenas ela, competente para verificar se um ato administrativo no
se mostra mais conveniente ou oportuno frente ao interesse pblico. Se a tal
concluso chegar, determinar a revogao desse ato.
Alm disso, modernamente tem o Judicirio adentrado na anlise do mrito
administrativo, no para revogar ou substituir a escolha do administrador, o que lhe
vedado, mas para verificar se, a pretexto de discricionariedade, o ato no foi, na
verdade, praticado de forma arbitrria. Nesse ponto, assumem especial relevo os
princpios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base nos quais pode
tambm o magistrado determinar a anulao (jamais a revogao) de um ato
administrativo. A este ponto voltaremos quando do estudo dos atos administrativos.
Ainda sobre o tema, vlida a transcrio da lio da Professora di Pietro:
Quanto aos chamados poderes discricionrio e vinculado, no existem como
poderes autnomos; a discricionariedade e a vinculao so, quando muito, atributos
de outros poderes e competncias da Administrao.
O chamado poder vinculado, na realidade, no encerra prerrogativa do Poder
Pblico, mas, ao contrrio, d idia de restrio, pois, quando se diz que determinada
atribuio da Administrao vinculada, quer-se significar que est sujeita lei em
praticamente todos os aspectos. O legislador, nessa hiptese, preestabelece todos os
requisitos do ato, de tal forma que, estando eles presentes, no cabe autoridade
administrativa seno edit-los, sem apreciao de aspectos concernentes
oportunidade, convenincia, interesse pblico, equidade. Esses aspectos foram
previamente valorados pelo legislador.
A discricionariedade, sim, tem inserida em seu bojo a idia de prerrogativa, uma
vez que a lei, ao atribuir determinada competncia, deixa alguns aspectos do ato para
serem apreciados pela Administrao diante do caso concreto; ela implica liberdade a
ser exercida nos limites fixados na lei. No entanto, no se pode dizer que exista como
poder autnomo; o que ocorre que as vrias competncias exercidas pela
Administrao com base nos poderes regulamentar, disciplinar, de polcia, sero
vinculadas ou discricionrias, dependendo da liberdade, deixada ou no, pelo legislador
Administrao Pblica.
3.3. PODER HIERRQUICO
Na lio do Prof. Jos dos Santos Carvalho Filho, hierarquia o escalonamento
em plano vertical dos rgos e agentes da Administrao que tem como objetivo a
organizao da funo administrativa.
Toda a organizao administrativa baseada em dois pressupostos: a
distribuio de competncias e o estabelecimento de relaes hierrquicas
entre os rgos e agentes administrativos. Nesse tpico analisaremos o poder
hierrquico apenas na sua acepo pessoal, com relao aos agentes pblicos.
Nessa perspectiva, como ressalta do conceito, a hierarquia s tem lugar no
mbito da funo administrativa. Assim, ela existe no Poder Executivo, onde se
aplica a todos seus agentes, com exceo do prprio chefe do Executivo, e tambm
nos Poderes Legislativo e Judicirio, quando no exerccio da funo administrativa.
Entretanto, no h hierarquia em termos funcionais nos dois ltimos Poderes, quanto
aos agentes que exercem funo jurisdicional (magistrados) e legislativa (senadores,
deputados e vereadores), pos eles gozam de independncia para desempenhar suas
funes prprias, tal como disposto na Constituio.
Assim, no Poder Judicirio e no Poder Legislativo h hierarquia, que se aplica
integralmente aos agentes administrativos e pacialmente aos agentes polticos
(parlamentares e juzes), os quais, embora tambm se sujeitem disciplina interna de
seu Poder, o que significa que em termos administrativos sujeitam-se sua hierarquia
interna, gozam de independncia funcional no exerccio das suas atribuies tpicas, tal
como postas na Constituio.
Poder hierrquico consiste, assim, num poder existente dentro de uma cadeia
de comando, pelo qual se confere ao superior a prerrogativa de ordenar, fiscalizar,
rever, delegar e avocar as tarefas de seu subordinado. Como o prprio nome diz,
um poder de carter interno, atuado no interior de uma estrutura hierrquica
administrativa.
Ao poder do superior de dirigir a conduta de seu subordinado contrape-se o
dever deste de acatar as ordens daquele, as quais no pode se negar a cumprir, salvo
em caso de manifesta ilegalidade. Nessa hiptese surge para o subordinado outro
dever: representar contra a conduta ilegal.
A fiscalizao outra das prerrogativas inerentes ao poder hierrquico, pela
qual o superior analisa e corrige os atos de seu subordinado.
A reviso confere ao superior a possibilidade de apreciar os atos do agente de
nvel hierrquico inferior. No exerccio da reviso o superior poder manter o ato, tal
como praticado pelo subordinado, revog-lo por motivos de mrito ou anul-lo por
vcio de ilegalidade. Embora ampla, a reviso s tem lugar quando o ato ainda no
esteja definitivamente solucionado na esfera administrativa e, quando pautada por
motivos de mrito, desde que no tenha gerado direito adquirido para o administrado.
A delegao a transferncia ao subordinado da competncia para a prtica de
atos at ento realizados por outro agente administrativo. Abrange apenas atos
administrativos (pois a Administrao no dispe de poder poltico), no podendo ser
delegada a competncia para a edio de atos normativos, para a deciso de
processos administrativos, e nem para matrias afetas competncia exclusiva de
determinado agente, orgo, entidade. Ainda, ressalvadas as hipteses constitucionais,
no pode ser feita de um Poder a outro.
A avocao, por sua vez, o contraposto da delegao. Enquanto nesta o
superior confere ao subordinado uma competncia que ele no detinha, naquela lhe
retirada uma atribuio que at ento possua.
Por fim, no podemos confundir subordinao com vinculao. A primeira,
como vimos, tem carter interno, estabelecendo-se entre rgos de uma mesma
entidade, poltica ou administrativa, como resultado do poder hierrquico.
A vinculao, de forma diversa, tem carter externo, e origina-se do controle
que os entes federativos (Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios) exercem sobre
suas respectivas entidades da Administrao Indireta (autarquias, fundaes pblicas,
empresas pblicas e sociedades de economia mista). No h que se falar, portanto, em
hierarquia entre a Administrao Indireta e a Administrao Direta, mas to somente
em vinculao, o que em termos gerais significa que as entidades da Administrao
indireta devem atuar com vistas finalidade para a qual foram criadas e em
conformidade com o programa estabelecido pelos rgos governamentoais.
3.4. PODER DISCIPLINAR
Poder disciplinar a prerrogativa que possui a Administrao de punir as
infraes dos servidores e demais pessoas que mantm com ela um vnculo
especfico. Por meio dele pode a Administrao punir, por exemplo, a conduta
irregular de um servidor, ou de um particular que esteja cumprido de forma
inadequada um contrato administrativo.
O exerccio do poder disciplinar, quando dirigido aos agentes administrativos,
decorre do poder hierrquico. Em funo disso, considera-se que o poder
disciplinar, embora no se confunda com o hierrquico, dele decorrente, quando a
punio recai sobre um agente administrativo. Com prudncia, podemos estender tal
concluso para os agentes credenciados e os honorficos. H quem chegue a afirmar
que a punio de um agente administrativo exerccio de poder hierrquico, embora
prevalea a posio de que ela manifestao do poder disciplinar, o qual, por sua
vez, decorrncia do hierrquico.
Desde j devemos evitar confundir as sanes disciplinares com aquelas oriundas
do exerccio do poder de polcia, que recaem sobre os particulares no sujeitos
disciplina interna administrativa.
Um delegatrio de servios pblicos que atrasa injustificadamente o incio da sua
atividade sancionado com base no poder disciplinar, pois o contrato por ele firmado
com a Administrao (vnculo especfico) acarreta sua sujeio ao regime interno
administrativo ; um particular que construa uma casa sem o devido alvar punido no
exerccio do poder de polcia (vnculo genrico), uma vez que no possui vnculo
especial que possibilite uma sano de natureza disciplinar.
Da mesma forma, no se confunde o poder disciplinar com o poder punitivo do
Estado, que exercido pelo Poder Judicirio, com a finalidade de reprimir e
sancionar crimes e contravenes.
O poder disciplinar, como qualquer outro poder administrativo, possui aspecto
dplice, constituindo, na verdade, um poder-dever do agente pblico. Verificada a
ocorrncia de infrao, o administrador no tem apenas a prerrogativa, mas sobretudo
o dever de aplicar a sano cabvel ao caso.
A discricionariedade do poder disciplinar defendida pela doutrina, posio que
deve ser acatada com certo cuidado. O administrador no possui liberdade para optar
por punir ou no punir; verificada a falta funcional, sua punio dever que a ele se
impe. H certa discricionariedade para ele na tipificao da falta e na graduao
da pena.
Assim, determinada a ocorrncia da infrao num procedimento realizado em
contraditrio, para o administrador surge o poder-dever de punir. Dispe ele, muitas
vezes, de certa liberdade para determinar o dispositivo legal transgredido, pois
situaes h em que a lei utiliza-se de expresses genricas, tais como falta grave,
ineficincia funcional, que lhe possibilitam um certo subjetivismo na sua aplicao ao
caso concreto. Isto porque, ao contrrio do que se exige em Direito Penal, o poder
disciplinar, de carter administrativo, no exige tipificao exaustiva, ou seja,
descrio pormenorizada de cada conduta abstratamente prevista como ensejadora de
sano. comum e plenamente vlido que a lei se valha de expresses um tanto
abrangentes, o que permite que o administrativo tenha um grau considervel de
discricionariedade para enquadrar determinada conduta em um dispositivo legal, ou
seja, tipificar a infrao.
A partir da tipificao da falta, cabe definir a pena aplicvel, tarefa para a qual o
administrador, respeitados os parmetros legais, tambm possui certa margem de
discricionariedade. Pode ele, exemplificativamente, para um fato apenado com
suspenso de 10 a 90 dias, optar pela aplicao de uma suspenso de 30 dias. Enfim,
pode optar pela sano que, em seu entender, mais se conforme ao interesse pblico e
melhor reprima a falta funcional, desde que respeite os limites da norma e,
obviamente, os princpios que regem a atividade administrativa.
Qualquer sano aplicada no exercicio do poder disciplinar deve ser motivada,
requisito de validade do ato e medida indispensvel para se minorar o risco de
punies arbitrrias.
3.5. PODER REGULAMENTAR
Antes de tratarmos propriamente do poder regulamentar, vamos conceituar e
diferenciar atos normativos primrios ou originrios e atos normativos
secundrios ou derivados.
Atos normativos originrios so aqueles que, em virtude de competncia
outorgada diretamente pela Constituio, tm aptido para instaurar direito novo, ou
seja, regras que criam direitos e obrigaes, inovando na ordem jurdica. Todos os
atos normativos primrios esto previstos no art. 59 da Constituio (ressalvado o art.
84, VI, da CF), podendo-se dentre eles citar, exemplificativamente, as leis ordinrias,
as leis complementares e as medidas provisrias.
J os atos normativos derivados so aqueles que tem por contedo a
explicitao, o detalhamento, a pormenorizao das normas expressas em algum ato
normativo primrio, a fim de conferir-lhes aplicabilidade.
Isto posto, passemos anlise do poder regulamentar.
A doutrina costuma apontar trs espcies de decreto ou regulamento: decreto ou
regulamento de execuo; decreto ou regulamento autnomo; e decreto ou
regulamento autorizado.
Com relao ao decreto ou regulamento de execuo, sua existncia se
justifica pelo fato de as leis, em regra, no serem passveis de execuo imediata. A
generalidade com que os assuntos so nelas tratados cria a necessidade de uma
normatizao posterior, que complemente e pormenorize os comandos legais. Para
suprir tal necessidade, a Administrao faz uso do poder regulamentar.
Nessa acepo, poder regulamentar, tradicionalmente conceituado como o poder
outorgado pela Constituio aos chefes do Poder Executivo para expedir os atos
normativos necessrios explicitao e detalhamento das leis, de forma a
possibilitar sua aplicao. Seu instrumento de formalizao o decreto.
Sua base normativa o art. 84, IV, da Constituio Federal, que declara ser
competncia privativa do Presidente da Repblica sancionar, promulgar e fazer
publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execuo.
Aos demais chefes do Poder Executivo outorgada atribuio idntica.
Enfim, os decretos ou regulamentos de execuo, de que trata o art. 84, IV, da
CF, tm por misso esclarecer e pormenorizar os termos da lei, a fim de conferir-
lhe plena aplicabilidade, sem jamais inovar na ordem jurdica, sendo sua aceitao
pacfica na doutrina.
importante notar que nem todas as leis necessitam ser regulamentadas. Como
esclarece Geraldo Ataliba, apenas as leis que devem ser executadas pela
Administrao demandam regulamentao. As demais leis, que no as
administrativas, (leis processuais, trabalhistas etc) so aplicveis
independentemente de qualquer medida dessa natureza. Existem regulamentos
destinados apenas ao pblicico interno da Administrao, disciplinando aspectos da
atuao funcional, e, como mais comum, existem regulamentos que atingem o
pblico externo Administrao, os administrados em geral.
Alm disso, como diz o Professor Bandeira de Mello, onde no houver liberdade
administrativa alguma a ser exercida (discricionariedade) por estar prefigurado na lei
o nico modo e o nico possvel comportamento da Administrao ante hipteses
igualmente estabelecidas em termos de objetividade absoluta -, no hver
regulamento que no seja mera repetio de lei ou desdobramento do que nela se
disse sinteticamente. O regulamento de execuo seria, pois, um meio de disciplinar
a discricionariedade administrativa, quando a lei, emitida em termos genricos,
permite, dentro de determinados parmetros, alguma liberdade de atuao da
Administrao. Ao ser regulamentada a lei, essa liberdade devidamente disciplinada,
assegurando-se que toda a Administrao execute a lei a partir das mesmas
disposies dela explicitadoras.
Ainda de acordo com o autor, os regulamentos sero compatveis com o princpio
da legalidade quando, no interior das possibilidades comportadas pelo enunciado legal,
os preceptivos regulamentares servem a um dos seguintes propsitos: (I) limitar a
discricionariedade administrativa, seja para (a) dispor sobre o modus procedendi da
Administrao nas relaes que necessariamente surdiro entre ela e os administrados
por ocasio da execuo da lei; (b) caracterizar fatos, situaes ou comportamentos
enunciados na lei mediante conceitos vagos cuja determinao mais precisa deva ser
embasada em ndices, fatores ou elementos configurados a partir de critrios ou
avaliao tcnicas segundo padres uniformes, para garantia do princpio da igualdade
e da segurana jurdica; (II) decompor analiticamente o contedo de conceitos
sintticos, mediante simples discriminao integral do que neles se contm.
Quando os regulamentos tm a funo (I), (a) ou (b), so marcados pela
discricionariedade, pois h um espao considervel para a liberdade administrativa;
quando desempenham a funo (II) so atos essencialmente vinculados, pois a
decomposio analtica de um dispositivo legal sinttico se d a partir da unio de
outros dispositivos legais sintticos, limitando-se o regulamento a reunir, em uma s
disposio, o que se encontra esparso em diversos artigos de lei.
J a segunda modalidade de decreto, o decreto ou regulamento autnomo, teria
por funo regular aquelas matrias para as quais a Constituio no estabeleceu
expressa reserva legal. Tais atos inovariam na ordem jurdica, estabelecendo
direito novo, sendo sua validade defendida por alguns doutrinadores. A possibilidade
de edio de decretos autnomos nas hipteses de reserva constitucional de lei, ou de
quaisquer decretos com disposies contrrias lei, negada pela unanimidade da
doutrina.
Resta a controvrsia, portanto, com relao possibilidade de serem editados
decretos autnomos para tratar de assuntos que no foram objeto de expressa reserva
legal. Em nosso entendimento, o art. 5, II, da CF, que estabelece o princpio da
legalidade, ao declarar que ningum ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa seno em virtude de lei, argumento suficiente para um posicionamento na
questo, pois se percebe que o legislador constituinte teve a ntida inteno de
estabelecer como requisito para a criao de direitos e obrigaes a edio de lei
ou ato normativo equivalente, o que torna o decreto autnomo instrumento inidneo
para a produo desses efeitos.
Esta , entre outros autores, a posio defendida por Celso Antnio Bandeira de
Mello, ao afirmar que s por lei se regula liberdade e propriedade, s por lei se
impem obrigaes de fazer ou no-fazer, s para cumprir dispositivos legais que o
Executivo pode expedir decretos e regulamentos.
Tal concluso comporta apenas duas excees, contidas no inc. VI do art. 84 da
CF, alterado pela EC 32/2001. Ali se diz que compete ao presidente da Repblica
dispor, mediante decreto, sobre:
a) organizao e funcionamento da administrao federal, quando no
implicar aumento de despesa nem criao ou extino de rgos;
b) extino de funes ou cargos pblicos, quando vagos.
Ressalvadas essas matrias, que compem a denominada reserva de
Administrao(s podem ser disciplinadas pelo Executivo, vedada a atuao do
Legislativo), nosso ordenamento jurdico no comporta mais nenhuma hiptese em
que se admite a edio de decretos autnomos, subsistindo, portanto, exclusivamente
os decretos de execuo e, como veremos a seguir, os decretos autorizados.
A terceira espcie de decreto ou regulamento, o autorizado, aquele que
complementa disposies da lei (ou ato normativo de igual hierarquia)
em razo de expressa determinao nela contida para que o Poder
Executivo assim proceda. Diferencia-se do decreto autnomo porque
depende de lei, e diferencia-se do decreto de execuo porque, apesar de
ser um ato normativo secundrio, efetivamente inova na ordem jurdica.
A doutrina e a jurisprudncia, majoritariamente, admitem a utilizao deste
decreto como ato normativo complementar, vedada sua utilizao quanto s
matrias sob reserva legal, da mesma forma que os decretos autnomos.
Tm-se aceitado a utilizao do regulamento autorizado para a fixao de
normas tcnicas, desde que exista lei que expressamente o autorize
e estabelea as condies e os limites da atuao do Poder
Executivo, determinando minudentemente os traos principais da norma a
ser elaborada, de modo que esta funcione apenas como complementao
tcnica indispensvel plena eficcia dos dispositivos legais.
No devemos confundir os decretos ou regulamentos autorizados com a
denominada delegao legislativa em branco, inconstitucional, que ocorre quando a
lei delega ao Poder Executivo competncia para definir por si mesmo as condies
e os requisitos necessrios ao nascimento da obrigao, do direito do dever
ou da restrio; uma vez que o regulamento autorizado pressupe necessariamente,
para sua vlida edio, lei que estabelea os contornos de atuao do Poder
Executivo.
Embora seja tema mais afeto displina de Direito Constitucional, entendemos que
a possibilidade de impugnao dos decretos ou regulamentos por meio da Ao Direta
de Inconstitucionalidade (ADIN) merece um comentrio parte.
A ADIN, como sabido, tem por objeto de impugnao, de acordo, com o disposto
no art. 102, I, da CF, as leis e atos normativos federais e estaduais que ofendam
diretamente Constituio. esse critrio ofensa direta Constituio que vai
determinar o cabimento ou no de ADIN aos decretos.
Havendo lei que regule o assunto objeto do decreto, e em tendo ele extrapolado
seus limites (ultra legem) ou contrariado seus termos (contra legem), no ter
cabimento a impetrao de ADIN. A situao aqui de ilegalidade, pois o confronto
se d entre a lei e o decreto, sendo a Constituio apenas indiretamente atingida.
Se no houver lei disciplinando a matria tratada no decreto, ou seja, se for ele
um decreto autnomo, disciplinando relaes sem qualquer fundamento em lei
(praeter legem), implicar em violao direta Constituio. Aqui cabvel sua
impugnao por meio de ADIN.
Conclui-se, portanto, que para verificarmos o cabimento ou no de ADIN contra
decreto, basta determinarmos se h ou no lei que regule o assunto nele contido. Se
houver, e tiver o decreto ultrapassado ou contrariado seus preceitos, no cabvel a
ADIN, j que no h ofensa direta Constituio, mas lei. Ao contrrio, se no
houver lei regulando a matria, a ADIN passvel de acionamento, j que nesse caso a
Carta Magna foi violada diretamente.
Finalizando esse tpico, trazemos colao lio do professor Vicente Paulo,
segundo o qual conveniente notar que, embora a doutrina costume referir-se ao
exerccio do poder regulamentar como faculdade dos Chefes de Poder Executivo,
entendemos que a edio de atos administrativos normativos em geral tambm
realizada com fulcro em tal poder, pelo menos em sentido amplo. o caso, por
exemplo, da edio de Portarias pelos Ministros de Estado, Secretrios Estaduais e
Municipais, da edio de Instrues Normativas pelas altas autoridades administrativas
etc. Todos so, de regra, atos administrativos de efeitos externos, genricos e
abstratos. No conseguimos visualizar outro fundamento para a validade de sua edio
que no o exerccio do poder regulamentar da Administrao Pblica.
3.6. O PODER DE POLCIA
3.6.1. CONCEITO E NOES GERAIS
O poder de polcia reparte-se entre o Legislativo e o Executivo. O primeiro, no
exerccio de sua funo tpica de legislar, atua criando as denominadas limitaes
administrativas, leis que estatuem normas reguladoras do exerccio de direitos e
atividades particulares. O Executivo, por meio da Administrao, regulamenta tais leis
e procede sua execuo. Nesse tpico apenas a atuao da Administraao no mbito
desse poder ser objeto de anlise.
Assim sendo, podemos conceituar poder de polcia administrativa como a
faculdade de que dispe a Administrao Pblica para condicionar e restringir o uso
e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefcio de interesses
da coletividade ou do prprio Estado. a atividade por meio do qual se regula a
prtica ou a absteno de atos em razo de algum interesse pblico, sempre nos
limites da lei, mediantea devida motivao e com a observncia do devido processo
legal.
A Administrao exerce poder de polcia sobre qualquer rea de interesse coletivo,
a exemplo das reas de segurana pblica, ordem pblica, higiene e sade pblica e
urbanismo. Tal poder se fundamenta em um vnculo geral entre
Administrao/administrado, ao contrrio dos poderes hierrquico e disciplinar, que
pressupem algum vnculo especfico.
O princpio que norteia e legitima a atuao do poder de polcia administrativa o
princpio da predominncia do interesse pblico sobre o privado. Em funo
dele, age a Administrao restringindo as atividades privadas sempre e apenas quando
elas possam pr em risco o interesse maior da coletividade.
Ele exercido por todas as esferas de Governo. A princpio, ao ente federativo com
competncia para legislar sobre determinada matria tambm outorgado o poder
para fiscalizar seu cumprimento, o que ele far mediante o uso do poder de polcia. Tal
repartio de competncias efetuada pela Constituio tendo por base o princpio
da predominncia do interesse, segundo o qual, na lio de Hely Lopes Meirelles,
os assuntos de interesse nacional ficam sujeitos regulamentao e policiamento da
Unio; as matrias de interesse regional sujeitam-se s normas e polcia estadual; e
os assuntos de interesse local subordinam-se aos regulamentos edilcios e ao
policiamento administrativo municipal. Ademais, h hipteses de competncia
concorrente no mbito do poder de polcita, quando ento h atuao conjunta de dois
ou mais entes federados.
O poder de polcia pode ser exercido repressiva e preventivamente.
Preventivamente, ele atuado por meio da edio de normas restritivas do
uso da propriedade e do exerccio de atividades sujeitas a controle administrativo, bem
como pela fiscalizao de sua aplicao. Alm destas normas, de carter externo,
dirigidas aos administrados, h edio tambm de normas de carter interno,
destinadas a disciplinar a conduta dos agentes administrativos. Aos particulares que
enquadram sua conduta s determinaes normativas de carter externo a
Administrao concede alvars, os quais podem ser deferidos sob a forma de licena
ou autorizao.
Licena um ato administrativo vinculado, conferido em carter permanente
ao particular que satisfaz os pressupostos para sua aquisio; autorizao um ato
administrativo discricionrio, concedido em carter precrio e, portanto, passvel de
revogao a critrio da Administrao, mesmo quando no houver
descumprimento das condies impostas para sua outorga.
Repressivamente, o poder de polcia exercido por meio da aplicao de sanes
queles que desobedecerem as normas consubstanciadoras das limitaes
administrativas. A Administrao, verificando o cometimento de infrao pelo
particular, adota as sanes cabveis ao caso, entre as quais, exemplificativamente,
podemos citar: multa, interdio de atividade, demolio de obra, apreenso e
destruio de bens etc.
O poder de polcia, alm de repressivo ou preventivo, pode ser tambm originrio
ou delegado. Originrio, quando exercido diretamente pelos entes federados (Unio,
estados, Distrito Federal e municpios), por meio de suas respectivas administraes
diretas; delegado, quando os entes federados delegam por lei poder de polcia a
entidades de direito pblico integrantes de sua administrao indireta. A doutrina
e a jurisprudncia no aceitam a delegao do exerccio do poder de polcia a
entidades de direito privado, mesmo quando integrantes da estrutura formal da
Administrao ou prestadoras de servios pblicos. Entendem, corretamente, que ele
decorrente do poder de imprio do Estado e, portanto, insuscetvel de ser
desempenhado por pessoas jurdicas de direito privado.
Admite-se a participao de particulares no mbito do poder de polcia apenas
para a prtica de atos materiais, preparatrios ou sucessivos da atuao dos entes
pblicos. o caso, por exemplo, da contratao de uma empresa particular para a
instalao de pardais, instrumentos destinados ao registro da velocidade dos veiculos
em vias pblicas (ato material preparatrio); ou para demolir uma obra, aps a ordem
emitida pelo Poder Pblico Municipal (ato material sucessivo).
3.6.2. SENTIDO NEGATIVO DO PODER DE POLCIA
Alguns entendem que o poder de polcia deve ser compreendido numa acepo
negativa, no sentido de que, por meio de seu exerccio, a Administrao busca evitar
a ocorrncia de dano a qualquer interesse coletivo. Nesse aspecto, oposta seria a
concluso quanto aos servios pblicos, atividade por meio da qual a Administrao
busca satisfazer concretamente determinada utilidade pblica.
Todavia, no com base neste parmetro que comumente se confere sentido
negativo ao exerccio do poder de polcia, mas pelo fato de ele destinar-se, na quase
totalidade das situaes, a obter uma absteno do particular, um no-fazer. Assim,
por meio dele se intenta conseguir que o administrado abstenha-se de praticar atos
danosos aos interesses da coletividade.
Mesmo quando, no mbito deste poder, aparentemente se impem obrigaes
de fazer ao particular, como, por exemplo, exibir planta para obter uma licena para
construir, ou fazer exame de habilitao para motorista, o que se busca na verdade
no so esses atos, em si mesmos considerados, mas evitar que determinado direito
ou atividade seja exercido de maneira nociva ou perigosa ao interesse pblico.
Quando o Poder Pblico impe uma obrigao de fazer ao administrado,
desejando o prprio resultado desta prestao, em si mesmo considerado, estamos
fora do mbito do poder de polcia. , exemplificativamente, o que ocorre quando so
requisitados bens ou servios particulares.
H uma rea em que se excepciona essa caracterstica do poder de polcia, a
saber, a que se refere ao uso da propriedade imobiliria, a fim de que o imvel se
adeque sua funo social. So as medidas previstas no art. 182, 4, da
Constituio, pelas quais se impe ao particular a obrigao de utilizar, parcelar ou
edificar seu imvel (obrigaes de fazer).
3.6.3. POLCIA ADMINISTRATIVA, POLCIA JUDICIRIA E POLCIA DE
MANUTENO DA ORDEM PBLICA
Como nos alerta Hely Lopes Meirelles, convm distinguir a polcia
administrativa, que nos interessa, neste estudo, da polcia judiciria e da polcia de
manuteno da ordem pblica, estranhas s nossas cogitaes, Advirta-se, porm, que
a polcia administrativa incide sobre os bens, direitos e atividades, ao passo que as
outras atuam sobre as pessoas, individualmente ou indiscriminadamente.
Este , decididamente, o marco diferencial entre a polcia administrativa, a
polcia judiciria e a polcia de manuteno da ordem pblica: a primeira incide
sobre bens, direitos ou atividades; a segunda e a terceira recaem diretamente
sobre pessoas. Adota-se em termos praticamente absolutos esta diferenciao.
Assim, mesmo quando a Administrao, no exerccio do poder de polcia, multa um
particular, diz-se que tal conduta no se volta para a pessoa em si, no objetiva sua
responsabilizao.
A esta diferena a Professora Maria Sylvia di Pietro acrescenta mais uma: a
ocorrncia ou no do ilcito penal. Enquanto a polcia administrativa visa ao combate
de ilcitos administrativos, a polcia judiciria e a de manuteno da ordem pblica
insurgem-se contra a prtica de delitos penais, aquela de forma exclusiva e esta em
carter principal. A polcia judiciria atua de maneira repressiva, fornecendo subsdios
para a atuao da jurisdio penal aps a ocorrncia do delito; j a polcia de
manuteno da ordem pblica age ne modo preventivo, tentando, por meio do
patrulhamento das vias pblicas e dos demais locais de utilizao coletiva, evitar a
ocorrncias de ilcitos penais ou de outras infraes atentatrias ao interesse pblico.
Por fim, a polcia administrativa exercida por rgos e entidades de carter
fiscalizador, enquanto que a polcia judiciria e a polcia de manuteno da ordem
pblica so atuadas por rgos de segurana (policiais civis, militares e federais).
3.6.4. ATRIBUTOS DO PODER DE POLCIA
A ingerncia administrativa na conduta particular torna necessrio dotar os atos
do poder de polcia de determinados atributos, sem os quais sua eficcia ficaria
irremediavelmente comprometida. Tais atributos so a discricionariedade, a auto-
executoriedade e a coercibilidade.
A discricionariedade significa que a Administrao dispe de uma razovel
margem de autonomia no exerccio do poder de polcia. Pode ela, respeitados os
marcos legais, determinar o objeto a ser fiscalizado, dentro de determinada rea de
atividade, e quais as sanes que sero aplicadas, determinando a sua espcie e
graduao.
Ela a regra geral no que diz respeito ao exerccio do poder de polcia, o que
no significa dizer que, em seu mbito, no existam competncias vinculadas. Pode
perfeitamente a lei regular, em algumas situaes, todos os aspectos de um ato de
polcia, hiptese na qual a atividade ser exercida de forma vinculada e, apesar disso,
no mbito deste poder.
A auto-executoriedade consiste na prerrogativa conferida Administrao
para, independente de autorizao judicial, executar direta e imediatamente
os atos de polcia. Compete ao Poder Pblico, verificando que o particular se conduziu
de forma contrria ao interesse coletivo, por si s adotar as medidas e aplicar as
sanes previstas em lei necessrias represso da conduta lesiva. o que se verifica,
por exemplo, no caso de alimentados deteriorados, os quais podem ser apreendidos e
destrudos sem necessidade de prvia manifestao judicial.
A auto-executoriedade tem lugar nos casos previstos em lei ou quando a
Administrao, frente a situaes graves e inusitadas, obrigada, para salvaguardar o
interesse pblico, a adotar medidas urgentes.
Ela, obviamente, no implica em vedao de acesso ao Poder Judicirio, pois,
inconformado com a medida administrativa, dispe o particular da faculdade de
recorrer ao Judicirio para fazer cessar o ato que entende ilegal.
Uma hiptese em que no dispe a Administrao de auto-executoriedade no
exerccio do poder de polcia a cobrana de multas, quando resistida pelo
particular. lcito Administrao efetuar o lanamento da multa e notificar o
particular para proceder ao seu pagamento. Se este se negar a faz-lo, entretanto,
no possvel a execuo do dbito na via administrativa, sendo indispensvel a
instaurao da competente ao junto ao Poder Judicirio.
Alguns autores dividem o atributo em dois: exigibilidade e executoriedade
(ou auto-executoriedade). A exigibilidade consiste na prerrogativa de a
Administrao tomar decises executrias, que dispensam a apreciao do Judicirio
e obrigam o particular. Se este no conformar sua conduta deciso da
Administrao, por meio desse atributo ela se vale de meios indiretos de coao:
como, por exemplo, o lanamento de uma multa.
J a executoriedade consiste na prerrogativa de a Administrao, aps ter
tomado a deciso, execut-la diretamente, sem necessidade de anuncia do Poder
Judicirio. Nesse caso a Administrao compele materialmente o administrado
obedincia, sob pena de contra ele adotar meios diretos de coao, a exemplo da
apreenso de mercadorias deterioradas ou a interdio de um estabelecimento
comercial.
O ltimo atributo, a coercibilidade, o poder de que dispe a Administrao
para impor ao particular, coativamente, as medidas que entender cabveis para a
defesa do interesse pblico, desde que respaldadas em lei. A concordncia do
particular dispensada, sendo para ele obrigatrio o acatamento da ordem ou da
sano. Quando houver da sua parte resistncia ao ato de polcia poder a
Administrao fazer uso da fora para impor seu cumprimento, sem para tanto
precisar recorrer ao Judicirio.
No podemos confundir os atributos da auto-executoriedade e da coercibilidade. O
primeiro dirige-se ao Judicirio, o qual no precisa ser acionado pela Administrao
para a execuo das medidas e das sanes decorrentes do exerccio do poder de
polcia; o segundo destina-se ao particular, que deve conformar sua conduta ao
comando administrativo, concorde ou no com seus termos.
Por fim, costuma-se afirmar que diverge a teoria geral dos atos administrativos
e a teoria geral dos atos de polcia. A assertiva se justifica principalmente por dois dos
atributos do poder de polcia: a discricionariedade e a auto-executoriedade, os quais,
embora presentes nos atos administrativos em geral, incidem em grau muito maior
nos atos de ato de polcia, os quais so em regra discricionrios e auto-executrios, ao
passo que os atos administrativos, enquanto gnero, so na sua maioria vinculados, e
no se pode afirmar que sejam predominantemente auto-executrios.
3.6.5. LIMITES
Sobre o tema, trazemos colao novamente uma lio de Vicente Paulo e
Marcelo Alexandrino:
A atuao da polcia administrativa s ser legtima se realizada nos estritos
termos jurdicos, respeitados os direitos do cidado, as prerrogativas individuais e as
liberdades pblicas asseguradas na Constituio e nas leis. H que se conciliar o
interesse social com os direitos individuais consagrados na Constituio. Caso a
Administrao aja alm desses mandamentos, ferindo a intangibilidade dos direitos
individuais, sua atuao ser arbitrria, configuradora de abuso de poder, corrigvel
pelo Poder Judicirio.
O princpio da proporcionalidade, entendido como a necessidade de adequao
entre a restrio imposta pela Administrao e o benefcio coletivo que se tem em vista
com a medida, tambm consubstancia um limite inarredvel do poder de polcia
administrativo. A imposio de uma restrio a um direito individual sem vantagem
correspondente para a coletividade invalida o fundamento do interesse pblico do ato
de polcia, por ofensa ao princpio da proporcionalidade. Da mesma forma, no pode a
Administrao sob o pretexto de condicionar o uso de um bem aniquilar a
propriedade individual, em razo da desproporcionalidade da medida.
Alm disso, os atos praticados no exerccio do poder de polcia devem preencher
todos os requisitos de validade dos atos administrativos em geral, sob pena de serem
invalidados pela Judicirio, quando provocado a tanto pelo particular atingido pelo ato
de polcia; ou pela prpria Administrao, agindo a pedido ou de ofcio. Finalmente, os
princpios regentes da funo administrativa so de observncia cogente na imposio
de uma sano decorrente da atuao do poder de polcia, devendo ser dentre eles
ressaltados os princpios do devido processo legal, do contraditrio e da ampla defesa.
3.6.6. PRESCRIO
A Lei 9.873/99 estabelece os prazos de prescrio para o exerccio da ao
punitiva pela Administrao Pblica Federal, direta e indireta. Ainda relativamente
desconhecida no mbito acadmico, a lei possui poucos dispositivos, todos de simples
assimilao, motivos pelos quais iremos transcrev-la parcialmente:
Art. 1. Prescreve em 05 (cinco) anos a ao punitiva da Administrao Pblica
Federal, direta e indireta, no exerccio do poder de polcia, objetivando apurar infrao
legislao em vigor, contados da data da prtica do ato, ou, no caso de infrao
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
1 Incide a prescrio no procedimento administrativo paralisado por mais de 03
(trs) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos sero arquivados de
ofcio ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuzo da apurao da
responsabilidade funcional decorrente da paralisao, se for o caso.
2 Quando o fato objeto da ao punitiva da Administrao tambm constituir crime,
a prescrio reger-se- pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 2. Interrompe-se a prescrio:
I pela citao do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II por qualquer ato inequvoco que importe em apurao do fato;
III pela deciso condenatria recorrvel.
Art. 3. Suspende-se a prescrio durante a vigncia:
I dos compromissos de cessao ou de desempenho, respectivamente, previstos nos
art. 53 e 58 da Lei 8.884, de 11/06/1994;
II do termo de compromisso de que trata o inc. 5 do art. 11 da Lei 6.385, de
07/12/1976, com a redao dada pela Lei 9.457, de 05/05/1997.
Art. 4. Ressalvadas as hipteses de interrupo previstas no art. 2, para as infraes
ocorridas h mais de 03 (trs) anos, contados do dia 1 de julho de 1998, a prescrio
operar em 02 (dois) anos, a partir dessa data.
Art. 5. O disposto nesta Lei no se aplica s infraes de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributria.
...
Alguns comentrios complementares sobre a Lei 9.873/99 fazem-se oportunos:
1) seu mbito restrito aos atos decorrentes do exerccio do poder de polcia. Por
isso, quando em seu art. 5 afirma no estarem abrangidas as infraes de natureza
funcional, a lei meramente explicitativa, uma vez que as infraes dos agentes
pblicos so punidas administrativamente com base no poder disciplinar, interno, e
no no poder de polcia, externo;
2) no se inicia o prazo prescricional das infraes permanentes ou continuadas
enquanto estas no houverem cessado. Assim, por exemplo, se um particular
constri uma casa com desobedincia s normas edilcias (infrao permanente), o
prazo de 05 anos s se inicia aps o encerramento da obra;
3) s incide a prescrio em 03 anos sobre os procedimentos administrativos se estes
estiverem paralisados espera de julgamento ou despacho da autoridade ou do
agente competente. Se o processo encontrar-se parado por outro motivo no se
verifica essa hiptese de prescrio;
4) na interrupo da prescrio o reincio do prazo se d pelo seu total, na
suspenso apenas pelo que lhe restava quando foi suspenso.
3.6.7. SUPREMACIA GERAL E ESPECIAL
O poder de polcia no se baseia em qualquer relao especfica do
administrado para com o Poder Pblico. Todos se sujeitam ao poder de polcia, a partir
do momento em que fazem parte de uma sociedade politicamente organizada. Diz-se,
pois, que h uma relao de supremacia geral da Administrao com relao aos
administrados, relao esta estritamente disciplinada em lei. Assim, o poder de polcia
fundamenta-se em um vnculo geral entre Administrao e administrado.
Ao lado dessa relao de supremacia geral, existe tambm uma relao de
supremacia especial, que incide sobre o administrado em funo de um vnculo
especfico existente entre ele e a Administrao. Ao contrrio das relaes de
supremacia geral, que so lastreadas exaustivamente em lei, nas relaes de
supremacia especial a Administrao detm poderes no decorrentes diretamente
de qualquer lei.
Como explica Bandeira de Mello, diferente, em relao determinada Escola
ou Faculdade Pblica, a situao dos que nela esto matriculados e a dos demais
sujeitos que no entretm vnculo algum com as sobreditas instituies; diferente a
situao dos internados em hospitais pblicos, em asilos ou mesmo estabelecimentos
penais, daqueloutra das demais pessoas alheias s referidas relaes; diferente,
ainda, a situao dos inscritos em uma biblioteca pblica circulante, por exemplo,
daquela dos cidados que no a frequentam e no se incluem entre seus usurios...
Em qualquer desses casos apontados, os vnculos que se constituram so, para alm
de qualquer dvida ou entredvida, exigentes de uma certa disciplina interna para
funcionamento dos estabelecimentos em apreo, a qual, de um lado, faz presumir
certas regras, certas imposies, restritivas, assim como, eventualmente, certas
disposies benficas, isto , favorecedoras, umas e outras tendo em vista regular a
situao dos que se inserem no mbito de atuao das instituies em apreo e que
no tm como deixar de ser parcialmente estabelecidas na prpria intimidade
delas, como condio elementar de funcionamento das sobreditas atividades (grifos
nossos).
Sem adentrar pormenorizadamente na anlise de tais relaes de sujeio
especial, basta-nos referir que seu fundamento ltimo deve decorrer de lei, que confira
a determinado rgo ou entidade pblica competncia para editar seu regramento, o
qual s poder conter normas pertinentes a seu funcionamento interno, destinadas aos
usurios de seus servios. Qualquer disposio neles contida que estravase ou
contrarie as disposies legais, ou que no se justifique tendo em vista a finalidade do
estabelecimento, padece de nulidade absoluta.
Tais relaes de sujeio especial no esto includas na esfera do poder de
polcia.
4. ABUSO DE PODER
Os poderes administrativos so prerrogativas conferidas aos agentes
pblicos para o desempenho de suas funes. Ao contrrio dos particulares, para quem
o exerccio de determinada prerrogativa nada mais que uma faculdade posta a seu
dispor, os agentes pblicos no apenas podem, mas devem fazer uso dos poderes que
lhe so outorgados pela lei. Assim, cada poder que lhes conferido consubstancia-se,
concomitantemente, num dever de atuao. Esse aspecto dplice dos poderes
administrativos que a doutrina denomina de poder-dever de agir.
Diz-se que h uso do poder quando o agente pblico, ao exercer suas funes,
o faz de forma regular, direcionando-as finalidade descrita na lei e de acordo com os
parmetros por ela traados.
Figura oposta ao uso do poder o abuso do poder, vcio que, uma vez
verificado em determinado ato administrativo, seja ele omissivo ou comissivo,
conduz inevitavelmente sua nulidade, que pode ser declarada pela prpria
Administrao, agindo de ofcio, ou pelo Poder Judicirio.
O abuso de poder gnero que comporta duas espcies: o excesso de poder
e o desvio de poder. O primeiro se verifica quando o agente atua fora da sua
competncia; o segundo, quando, apesar de no ultrapassar sua competncia, o
agente pratica o ato com finalidade diversa da determinada na lei.
Assim, ocorre o excesso de poder quando o agente age fora dos limites de
suas atribuies, seja produzindo ato para o qual incompetente, seja realizando um
ato dentro de sua competncia, mas conferindo-lhe efeitos que no apto a
produzir.
Como exemplo da primeira hiptese podemos citar a expedio de um decreto
por um ministro de Estado. Como, na esfera federal, tal atribuio exclusiva do
presidente da Repblica, nulo o ato por excesso de poder, j que o ministro exerceu
uma competncia que no possui.
Exemplo da segunda hiptese a edio de um decreto pelo presidente da
Repblica, por meio do qual se estabelea diretamente determinada obrigao. O ato
aqui tambm nulo, pois, apesar de haver competncia para sua produo, foram-lhe
conferidos efeitos para os quais no tem aptido: a criao de obrigaes, matria
reservada lei ou a ato normativo a ela equiparado. O presidente competente para
editar o decreto, mas no pode por meio dele criar obrigaes, o que leva sua
nulidade por excesso de poder.
A outra espcie de abuso de poder o desvio de poder, tambm chamado de
desvio de finalidade, que se verifica quando o agente, embora atuando nos limites
de sua competncia, pratica ato buscando finalidade diversa daquela, explcita
ou implicitamente, determinada na lei.
Esse vcio se manifesta de duas formas: o agente realiza um ato com fim
diverso do interesse pblico, ou seja, com fim particular, seu ou de terceiro; ou o
agente pratica o ato visando a um fim de interesse pblico, mas no aquele
especificamente determinado para o ato.
Exemplo do primeiro caso a remoo ex officio de um servidor para uma cidade
na qual ele deseje residir. A remoo ex officio tem por finalidade o interesse do
servio, no podendo ser utilizada para a satisfao de interesses individuais. Logo, h
desvio de finalidade na prtica do ato.
Como exemplo do segundo caso podemos citar a remoo ex officio de um servidor
como forma de punio. A remoo atendeu a uma finalidade de interesse pblico, que
a punio do servidor faltoso. Sua finalidade especfica, entretanto, no essa, mas
aumentar o nmero de servidores em uma unidade administrativa. Como tal finalidade
no foi visada com a remoo, ela nula por desvio de poder.
QUESTES DE PROVAS ANTERIORES DO CESPE
PODERES E DEVERES ADMINISTRATIVOS
(PROCURADOR INSS/1998)
1. Em consonncia com as construes doutrinrias acerca do uso e do abuso de poder
administrativo, a lei considera que o gestor age com excesso de poder quando pratica
o ato administrativo visando a fim diverso daquele previsto, explcita ou
implicitamente, na regra de competncia.
2. Em decorrncia do poder de polcia de que investida, a administrao pblica pode
condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais,
independentemente de prvia autorizao judicial.
3. O acatamento do ato de polcia administrativa obrigatrio ao seu destinatrio.
Para fazer valer o seu ato, a administrao pode at mesmo empregar fora pblica
em face da resistncia do administrado sem que, para isso, dependa de qualquer
autorizao judicial.
4. As sanes decorrentes do exerccio do poder de polcia administrativa por
exemplo, a interdio de atividade, o fechamento de estabelecimento, a demolio de
construo, a destruio de objetos e a proibio de fabricao de determinados
produtos s podem ser aplicadas aps regular processo judicial, haja vista a
dimenso da restrio de direitos individuais implementada.
5. A proporcionalidade entre a restrio imposta pela administrao e o benefcio social
que se tem em vista, bem como a correspondncia entre a infrao cometida e a
sano aplicada, podem ser questionadas em juzo, mas devero ser esgotadas
previamente as vias recursais administrativas, sob pena de o Poder Judicirio
proclamar a falta de interesse de agir do administrado.
6. Considerando a natureza e os efeitos da atuao da polcia administrativa, os atos
administrativos praticados nessa esfera so estritamente vinculados.
(PROCURADOR DO INSS/1999)
7. O desvio do poder ou desvio de finalidade ocorre quando o agente pratica o ato
visando a fim diverso daquele previsto, explcita ou implicitamente, na regra de
competncia.
(AGENTE DA PF/2000)
8. Apesar de as polcias civil e federal desempenharem a funo de polcia judiciria,
ambas so rgos do Poder Executivo e no do Poder Judicirio.
9. Um agente de polcia federal poderia sofrer pena administrativa de demisso,
imposta com base no poder disciplinar, caso indispusesse funcionrios contra os seus
superiores hierrquicos. Entretanto, um agente no poderia sofrer punio
administrativa caso tentasse convencer outros agentes a no executar a ordem do
superior hierrquico no sentido de que, durante a noite, arrombassem a porta de uma
residncia para cumprir mandado judicial de priso.
10. Se um agente de polcia federal fosse designado para investigar a prtica de
corrupo passiva atribuda a ocupantes de cargos comissionados de autarquia federal,
esse agente realizaria a investigao no exerccio do poder de polcia, em razo do que
seria indispensvel a autorizao judicial para a prtica dos atos necessrios.
(PAPILOSCOPISTA DA PF/2000)
11. No exerccio do poder hierrquico, o superior, em certas circunstncias, pode tanto
avocar a prtica de determinado ato, quanto, ele prprio, aplicar sanes punitivas a
seus subordinados.
(TITULAR DE CARTRIO DO DF/2000)
12. Acerca do poder de polcia, juridicamente correto afirmar que a competncia para
seu exerccio , em princpio, da entidade poltica competente para legislar acerca da
matria, que sua teoria geral a mesma dos atos administrativos e que, no exerccio
desse poder, a administrao pblica pode impor restries a direitos e liberdades
constitucionalmente assegurados.
(ASSISTENTE JURDICO DO DF/2001)
13. A interveno administrativa da autoridade pblica no exerccio das atividades
individuais suscetveis de comprometimento do interesse geral, denomina-se polcia
judiciria.
14. Coordenar, contratar, ordenar e corrigir as atividades administrativas, no mbito
da administrao pblica, incluem-se entre os objetivos fundamentais do poder
disciplinar.
(FISCAL DO INSS/2001)
15. Mesmo que a autoridade administrativa seja competente tanto para punir um
subordinado como para remov-lo para outra cidade, ser invlido o ato de remoo
praticado como meio de punio ao subordinado, ainda que haja necessidade de
pessoal na cidade para onde o servidor foi removido.
(PROCURADOR DA AGU/2001)
16. Quando a Administrao se vale de lei que prev a demisso de servidor pblico
pela prtica de ato definido como crime e demite um servidor, ela exerce o poder
disciplinar.
17. Quando o presidente da Repblica expede um decreto para tornar efetiva uma lei,
ele exerce poder regulamentar.
Marcos o governador de um estado-membro do Brasil e, por isso, tem o poder de
remover os servidores pblicos de uma localidade para outra, para melhor atender ao
interesse pblico. Um servidor do estado namorava a filha de Marcos, contrariamente a
sua vontade. A autoridade, desejando pr um fim ao romance, removeu o servidor
para localidade remota, onde, inclusive, no havia servio telefnico.
18. O ato descrito est viciado por desvio de finalidade.
19. O controle interno das atividades administrativas um dos meios pelos quais se
exercita o poder hierrquico.
(DELEGADO DA PF/2002)
20. A funo de polcia judiciria no exclui da Polcia Federal o poder de polcia
administrativa.
21. O poder disciplinar impe ao superior hierrquico o dever de punir o subordinado
faltoso.
(ESCRIVO DA PF/2002)
22. Uma das competncias do chefe do Poder Executivo federal a expedio de
decretos, com a finalidade de regulamentar as leis no seio da Administrao Pblica;
essa competncia no d ao presidente da Repblica, porm, o poder de baixar
decretos tratando amplamente de matrias ainda no disciplinadas por lei, ou seja,
no pode ele, na vigente ordem constitucional, editar os chamados decretos
autnomos.
(AGENTE DA PF/2002)
23. Considere a seguinte situao hipottica.
A empresa de vigilncia privada guia Segurana e Vigilncia Ltda. foi notificada pela
Comisso de Vistoria da Polcia Federal para, no prazo de 35 dias, sanear o processo
administrativo concernente reviso de autorizao de funcionamento, por meio da
apresentao de uma srie de documentos. A empresa no apresentou todos os
documentos exigidos na notificao, sendo que, em vistoria para atualizao do
Certificado de Segurana, constatou-se a inobservncia de inmeros requisitos bsicos
para o funcionamento, tambm no regularizados em tempo hbil aps notificao. A
Portaria DPF n 992/95 prev possibilidade de aplicao de pena de cancelamento de
registro de funcionamento de empresa de segurana privada que deixe de possuir
qualquer dos requisitos bsicos exigidos para o funcionamento e no promova o
saneamento ou a readaptao quando notificada a faz-lo.
Nessa situao, diante do poder regular de polcia, pode a autoridade competente
cancelar o registro de funcionamento da empresa guia Segurana e Vigilncia Ltda.,
sem que, para tanto, tenha de recorrer previamente ao Poder Judicirio.
24. (Analista Judicirio rea judiciria STJ/99) -. Julgue os seguintes itens,
relativos aos poderes do administrador pblico.
I- Poder de polcia a faculdade de que dispe a administrao pblica para
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em
benefcio da coletividade ou do prprio Estado.
II- Poder disciplinar o que dispe o gesto pblico para distribuir e escalonar as
funes de seus rgos, ordenar e rever atuao de seus agentes, estabelecendo a
relao de subordinao entre os servidores de seu quadro de pessoal.
III- Poder regulamentar a faculdade de explicar a lei para sua correta execuo,
ou de expedir decretos autnomos sobre matria de sua competncia ainda no
disciplinada por lei.
IV- Poder hierrquico a faculdade de punir internamente as infraes funcionais
dos servidores e demais pessoas sujeitas disciplina dos rgos e servios da
administrao.
V- Poder vinculado aquele que a lei confere administrao pblica para a
prtica de ato de sua competncia determinando os elementos e requisitos
necessrios a sua formalizao.
Esto certos apenas os itens:
a) I, II e III;
b) I, II e IV;
c) I, III e IV;
d) II, IV e V;
e) III, IV e V.
25. (Juiz Substituto PE/2000) - Relativamente aos poderes da administrao,
assinale a opo correta.
(A) Os atos administrativos praticados no exerccio do poder discricionrio so imunes
a controle externo, seja judicial, seja legislativo.
(B) Nos casos em que a lei define um ato administrativo como vinculado, comum
que ela esgote a disciplina de todos os aspectos do ato, retirando por completo a
possibilidade de o agente pblico inserir, em qualquer extenso, seu juzo subjetivo
no momento de pratic-lo.
(C) No Brasil, o excesso perpetrado pela autoridade no exerccio do poder
regulamentar pode dar ensejo exclusivamente ao controle externo de competncia
do poder judicirio e ao controle interno, isto , quele realizado pela prpria
administrao.
(D) Uma vez que o poder disciplinar gera a aplicao de castigos aos agentes pblicos
e considerando o princpio da legalidade na administrao pblica, a punio de
servidor, semelhana do que acontece no direito penal, deve rigorosa obedincia
ao princpio da tipicidade estrita na definio legal dos atos passveis de pena e das
respectivas sanes.
(E) Segundo a doutrina majoritria, no Brasil, por fora da ordem constitucional em
vigor, somente juridicamente admissvel o decreto de execuo, no o autnomo.
26. (Atendente Judicirio TJ BA 2003) O poder disciplinar discricionrio, pois no est
vinculado prvia definio da lei sobre a infrao funcional e a respectiva sano.
Conforme a gravidade do fato a ser punido, a autoridade escolher, entre as penas
legais, a que melhor atenda ao interesse do servio e a que melhor reprima a falta
cometida.
27. (Atendente Judicirio TJ BA 2003) Poder de polcia a faculdade de que dispe a
administrao pblica para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e
direitos individuais, em benefcio da coletividade ou do prprio Estado.
28. (Auxiliar Judicirio de 2 Entrncia TJ PE/2001) - O poder de que dispe a
administrao pblica para condicionar o uso e o gozo de bens, direitos individuais ou
atividades, no interesse da sociedade ou do prprio Estado, corresponde ao poder
A de polcia.
B hierrquico.
C disciplinar.
D discricionrio.
E vinculado.
29. (Oficial de Justia de 1 Entrncia TJ PE/2001) - O rgo de vigilncia sanitria
do estado de Pernambuco, ao realizar inspeo, localizou, afixada na parede da
cozinha de determinado restaurante de Recife, a seguinte citao: Aqui nada se
perde. Tudo se transforma. Vale dizer: as condies higinicas eram as piores
possveis. Ato contnuo, a vigilncia determinou a interdio do restaurante.
Para esse tipo de situao hipottica, o atributo de que dispe a polcia administrativa
para agir independentemente de autorizao judicial
A no foi admitido no direito brasileiro, razo por que o ato do
rgo de vigilncia foi ilegal.
B corresponde auto-executoriedade.
C corresponde presuno de legitimidade.
D decorre da imperatividade da atuao administrativa.
E compreende a cobrana de multas administrativas.
30. (Oficial de Justia de 3 Entrncia TJ PE/2001) - Um grupo de mil manifestantes
invadiu e levantou acampamento em determinada praa pblica na cidade de Recife. A
ocupao passou a causar transtornos populao local, a tal ponto de esta solicitar
das autoridades as providncias cabveis.
Com base nessa situao hipottica, assinale a opo correta.
A A polcia militar poder, independentemente de ordem judicial, promover a
desocupao da rea, desde que os meios de fora a serem utilizados sejam
proporcionais.
B A polcia militar, para promover a desocupao da rea, necessitar de autorizao
judicial.
C O princpio da liberdade de expresso permite que os manifestantes permaneam o
tempo que bem entenderem no referido local pblico.
D A polcia militar, ao promover a desocupao da praa, estar no exerccio do poder
disciplinar.
E A possibilidade de a polcia utilizar a fora para promover a desocupao da praa
est ligada auto-executoriedade da atuao administrativa.
31. (Titular dos Servios Notariais e de Registro TJ RR/2001) - Em determinado
rgo da administrao pblica federal direta, constatou-se o cometimento reiterado
de infraes funcionais por parte de determinado servidor. A chefia, com vistas a punir
referido servidor, determinou a sua imediata remoo para outra unidade daquele
mesmo rgo, localizada em local de difcil acesso.
Em face dessa situao hipottica, correto afirmar que a remoo do servidor
A ato perfeitamente vlido.
B pode ser questionada em sua validade haja vista no ter sido assegurado ao servidor
o direito ao contraditrio e ampla defesa.
C nula em face do desvio de finalidade.
D nula em face do vcio de forma na edio do ato.
E poder ser convalidada se houver manifestao da autoridade competente para a
sua prtica.
QUESTO 25
32 (Tcnico Judicirio rea Administrativa TRT 6 Regio/2002) - A atividade
administrativa, como projeo objetiva da administrao pblica, inclui a polcia
administrativa, a qual executa e fiscaliza as restries impostas por lei ao exerccio dos
direitos individuais em benefcio do interesse coletivo.
33. (Auditor Fiscal INSS/200) - Mesmo que a autoridade administrativa seja
competente tanto para punir um subordinado como para remov-lo para outra cidade,
ser invlido o ato de remoo praticado como meio de punio ao subordinado, ainda
que haja necessidade de pessoal na cidade para onde o servidor foi removido.
34. (Promotor de Justia Substituto MPAM/2001) - O chefe de uma repartio pblica
determinou certa obrigao a servidor, que, descumprida, ensejou a instaurao de
inqurito administrativo.
Nessa situao hipottica, houve manifestao dos poderes
A vinculado e disciplinar.
B hierrquico e de polcia.
C hierrquico e disciplinar.
D discricionrio e disciplinar.
E vinculado e de polcia.
35. (Promotor de Justia Substituto MPAM/2001) - Valendo-se de sua competncia
legal, um agente pblico praticou ato administrativo de remoo de servidor pblico,
to-somente porque tinha inimizade a este servidor.
Em face da situao hipottica apresentada, assinale a opo correta.
A Obedecidos os limites legais, o ato de remoo no pode ter sua finalidade
questionada, j que esta se relaciona ao mrito administrativo.
B O ato de remoo ocorreu com excesso de poder, j que seu agente exorbitou do
uso de suas faculdades administrativas.
C Houve desvio de finalidade na remoo, pois, embora formalmente legal, o ato
praticado objetivou fim ilegal.
D Tendo usado sua competncia dentro da lei, o agente pblico valeu-se de mero uso
de seu poder discricionrio.
E No se pode imputar abuso de poder ao agente que praticou o ato de remoo, dado
ser pressuposto do abuso a clandestinidade na prtica do ato.
QUESTO 24
36. (Promotor de Justia Substituto MPRR/2001) - O dever de os servidores pblicos
estarem sujeitos a certa jornada de trabalho exemplo do exerccio vlido do poder de
polcia.
37. (Promotor de Justia Substituto MPRR/2001) - A administrao pblica, ao
exercer o poder de polcia, tanto pode agir para prevenir atividades particulares lesivas
ao interesse pblico como pode atuar para paralisar atividades j iniciadas, de maneira
que, nesses casos, a administrao no precisa necessariamente recorrer ao Poder
Judicirio para defender o interesse coletivo.
38 (Advogado da unio/Nov 2002) A hierarquia administrativa baseia- se na
autoridade, de modo que a relao hierrquica envolve poderes como os de comando,
de fiscalizao, de reviso e de punio, entre outros.
39 (Advogado da unio/Nov 2002) - Se determinado rgo pblico apreende
medicamentos comercializados ilegalmente, esse ato constitui exerccio do poder de
polcia administrativa, embora tenha carter repressivo e apesar de esse poder agir de
maneira sobretudo preventiva.
40. (Agente da polcia Federal/1997) - Acerca dos poderes da administrao pblica,
julgue os itens a seguir.
1) Considere que Cndido seja fiscal do instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovveis (IBAMA), usando na explorao ilegal de madeiras, e
que, pelas normas aplicveis a seu trabalho, Cndido seja obrigado apreender a
madeira ilegalmente extrada que encontrar no trabalho de fiscalizao e a aplicar
multa aos responsveis pela e pelo transporte do madeirame. Assim, estes so
exemplos de atos resultantes do poder discricionrio que Cndido detm.
2) O ato praticado no exerccio de poder discricionrio imune a controle judicial.
3) Considere a seguinte situao: Ftima Delegada de Polcia Federal e
Superintendente Regional na SR do DPF no Estado de Minais Gerais. Um servidor
lotado naquela SR foi alvo de procedimento administrativo, por haver-se envolvido em
vias fato com um colega, por discusso irrelevante. Por delegao do Diretor do DPF,
a superintendente aplicou ao servidor, aps o devido processo legal, pena de
suspenso por quinze dias. Em ocasio, a Superintendente constatou que os atos
administrativos praticados na SR freqentemente apresentavam defeitos formais, o
que a fez chamar a seu gabinete os servidores responsveis e orient-los, no exerccio
de coordenao e reviso prprias da administrao. Na situao apresentada, as
medidas tomadas pela Superintendente so exemplos de atos praticados em
decorrncia do poder disciplinar.
4) A hierarquia implica o dever de obedincia do subalterno, dever que, no entanto,
no absoluto.
5) A hierarquia implica, como regra geral, as faculdades de o superior delegar ou
avocar atribuies.
41 (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) - Por ser
discricionrio, o poder de polcia, por vezes, no est submetido ao princpio da
motivao.
42 (Juiz Substituto TJBA/2002) - O carter preventivo da atividade da administrao
pblica no nota essencial do poder de polcia, uma vez que este pode tambm agir
repressivamente, como ocorre, por exemplo, quando o poder pblico apreende
gneros alimentcios imprprios para o consumo, aps haver tomado cincia do fato
somente depois da comercializao ou exposio venda da mercadoria.
43. (Escrivo da PF/2002) O poder de polcia fundamenta-se em vnculo geral que
existe entre a administrao pblica e os administrados e visa satisfao do interesse
pblico; por isso, pode incidir sobre qualquer direito do cidado sem causar ofensa aos
direitos fundamentais previstos no ordenamento jurdico, desde que respeite os
princpios constitucionais da administrao.
44. (Analista Judicirio rea judiciria STJ/99) - O presidente da Repblica poder
delegar ao presidente de uma autarquia federal a atribuio de regulamentar, por meio
de portaria, uma lei cuja execuo esteja afeta esfera de atuao daquele ente da
administrao indireta.
Gabarito:
1. E
2. C
3. C
4. E
5. E
6. E
7. C
8. C
9. C
10. E
11. C
12. E
13. E
14. E
15. C
16. C
17. C
18. C
19. C
20. C
21. C
22. C
23. C
24. C
25. E
26. C
27. C
28. A
29. B
30. A
31. C
32. C
33. C
34. C
35. C
36. E
37. C
38. *
39. C
40. EEECC
41. E
42. C
43. E
44. E
VII. SERVIDORES PBLICOS
1. DISPOSIES CONSTITUCIONAIS GERAIS RELATIVAS AOS AGENTES
PBLICOS
O constituinte de 1988 conferiu especial ateno ao disciplinamento da
Administrao Pblica e seus agentes, em especial os servidores pblicos.
Alm de alguns dispositivos esparsos ao longo do texto constitucional, o
regramento especfico da Administrao Pblica inicia-se no art. 37, onde so
estabelecidas regras e princpios concernentes Administrao Pblica em geral,
aplicveis a todos os Poderes da Repblica, quando no desempenho da funo
administrativa, e a todas as esferas de Governo. Prosseguindo, no art. 38 a Carta
estatui normas para o servidor pblico da Administrao direta, autrquica e
fundacional, quando no exerccio de mandato eletivo. Os art. 39, 40 e 41 tambm so
destinados aos servidores pblicos. O primeiro desses dispositivos regula seu regime
jurdico, o segundo trata de seu regime previdencirio, e o terceiro disciplina a
estabilidade e outros institutos a ela relacionados.
Neste captulo estudaremos separadamente cada uma das disposies
constitucionais relativas Administrao Pblica e seus agentes, em especial os
servidores pblicos, comentando tambm a legislao infraconstitucional que
complementa a matria.
1.1. ACESSO A FUNES, CARGOS E EMPREGOS PBLICOS
Iniciaremos nosso trabalho pelos incisos I, II, III, IV, V, VIII e IX do art. 37, que
cuidam do acesso aos cargos, empregos e funes pblicas, alm de outros temas a
ele relacionados.
1.1.1. ACESSIBILIDADE A BRASILEIROS E ESTRANGEIROS
A Emenda 19/98 alterou o inc. I do art. 37 da CF, com o fim especfico de
permitir aos estrangeiros o acesso aos cargos, empregos e funes da Administrao
Pblica. A redao do inciso, aps a alterao, vazada nos seguintes termos:
I os cargos, empregos e funes pblicas so acessveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma
da lei.
A Constituio j havia sofrido anteriormente uma alterao nesse assunto, por
fora da Emenda 11/96, que deu nova redao ao art. 207, com o intuito de
possibilitar s universidades e s instituies de pesquisa cientfica e tecnolgica a
admisso de professores tcnicos e cientistas estrangeiros, observados os requisitos
legais.
O que a EC 19/98 fez, ao alterar o art. 37, I, da CF, foi estender tal
possibilidade a todos os cargos, empregos e funes pblicas, que agora podem
ser ocupados, indistintamente, por brasileiros natos e naturalizados, e por
estrangeiros.
As nicas excees regra esto previstas no art. 12, 3, da CF, que
relaciona os cargos acessveis apenas aos brasileiros natos: Presidente e Vice-
Presidente da Repblica; Presidente da Cmara dos Deputados; Presidente do Senado
Federal; Ministro do Supremo Tribunal Federal; membro da carreira diplomtica; oficial
das Foras Armadas e Ministro de Estado da Defesa.
de se notar que a norma do art. 37, I, da CF, de eficcia limitada, ou seja,
tem como condio para o incio da produo de seus efeitos sua regulamentao pela
legislao infraconstitucional.
1.1.2. COMPETNCIAS RELACIONADAS ADMINISTRAO PBLICA
A EC 32/2001 alterou as normas referentes competncia para a disciplina da:
- criao, extino e transformao de cargos e funes pblicos;
- estruturao e estabelecimento de atribuies no servio pblico; e
- criao e extino de rgos e ministrios.
Aps a referida Emenda, e levando-se tambm em considerao as inovaes ao
texto constitucional promovidas pela EC 19/98, as regras sobre algumas das principias
competncias em matria administrativa podem ser assim sintetizadas:
1) a criao, transformao e extino de cargos, empregos e
funes pblicas competncia exclusiva do Congresso Nacional,
exercida mediante lei, que ser de iniciativa privativa do Presidente da
Repblica quando se tratar de cargos, funes ou empregos pblicos na
Administrao Direta e autrquica;
2) a extino de funes ou cargos pblicos vagos competncia
privativa do Presidente da Repblica, exercida por meio de decreto. A
extino de empregos pblicos, mesmo quando vagos, continua sendo
de competncia do Congresso, mediante lei;
3) a criao e extino de ministrios e rgos da Administrao
Pblica compete ao Congresso Nacional, que a exercer mediante lei de
iniciativa privativa do Presidente da Repblica;
4) a criao e extino de autarquias de competncia do Congresso,
mediante a edio de lei especfica. A criao e extino das demais
entidades da Administrao Indireta competncia do Presidente da
Repblica, por decreto, aps autorizao em lei especfica;
5) a organizao e funcionamento da Administrao federal,
quando no implicar aumento de despesa nem criao ou extino de
rgos pblicos competncia privativa do Presidente da Repblica,
exercida por meio de decreto.
Segundo o Professor Hely, do inc. I do art. 37 da CF, antes transcrito, decorre o
princpio da organizao legal do servio pblico. De acordo com o autor, a
necessidade de lei para estabelecer os requisitos de acesso a cargos, empregos e
funes pblicas advm da necessidade de lei para a criao dos mesmos.
A partir da EC 32/2001, devemos anotar que houve uma mitigao deste
princpio, uma vez que passou a ser de competncia privativa do Presidente da
Repblica, por decreto autnomo, a disciplina da organizao e funcionamento da
Administrao federal, quando no implicar aumento de despesa nem criao ou
extino de rgos pblicos. Ainda, tambm passou a ser de competncia privativa
desta autoridade a extino de cargos e funes pblicas, quando vagos. At a
publicao da referida emenda tais atribuies eram de competncia do Congresso
Nacional, mediante lei.
1.1.3. REQUISITOS PARA O ACESSO A CARGOS OU EMPREGOS PBLICOS
Mais uma das aplicaes do inc. I do art. 37 da CF a necessidade de que o
estabelecimento de condies e requisitos para o ingresso no servio pblico seja feito
diretamente por lei, no sendo os editais de concursos pblicos, ou outros atos
normativos infralegais, instrumentos idneos para tal finalidade. Os editais so vlidos
para disciplinar o procedimento de seleo, no para estabelecer condies e requisitos
para a participao no certame, e consequentemente no servio pblico. Para tanto,
faz-se necessria a edio de lei ou ato normativo de igual hierarquia.
Mas a mera previso em lei no suficiente para se concluir pela validade de
determinada exigncia para o acesso aos quadros pblicos, pois a lei no pode
instituir restries discriminatrias, incoerentes, sem relao com o cargo ou emprego
pblico a ser preenchido. Restries relacionadas raa, religio, origem, sexo, idade,
entre outras, ferem, em linhas gerais, o princpio da isonomia, de matriz
constitucional, que deve nortear o ingresso no servio pblico.
No se conclua da que restries dessa natureza sofrem uma vedao
absoluta. A jurisprudncia, acatando posicionamento doutrinrio dominante, vem
considerando vlidas, com fulcro no princpio da razoabilidade, exigncias ligadas
principalmente a sexo, idade e constituio fsica, as quais, a uma primeira anlise,
seriam tidas por inconstitucionais.
Assim, faz-se uma interpretao do princpio da isonomia luz do princpio da
razoabilidade, para se considerar vlidas determinadas exigncias legais, desde que,
bom que se frise, sejam condizentes com a natureza e a complexidade das atribuies
do cargo ou emprego.
O STF tem esposado tal entendimento sobre o assunto, tendo editado
recentemente a Smula 683, com o seguinte teor:
683 - O limite de idade para a inscrio em concurso pblico s se legitima em
face do art. 7, XXX, da Constituio, quando possa ser justificado pela natureza das
atribuies do cargo a ser preenchido.
oportuno informar que, segundo o STF, o veto participao do candidato em
determinado concurso, em virtude do no preenchimento dos requisitos legais, deve
ser devidamente motivado, no sendo vlida sua excluso do certame sob alegaes
genricas de que no foram preenchidos os requisitos legais. indispensvel que o
candidato seja informado do motivo especfico que impediu a aceitao de sua
inscrio.
Sobre o tema, pronuncionou-se o STF na smula 684, vazada nos seguintes
termos:
684 - inconstitucional o veto no motivado participao de candidato a
concurso pblico.
1.1.4. EXIGNCIA DE CONCURSO PBLICO
Reza o inciso II do art. 37 da CF:
II - a investidura em cargo ou emprego pblico depende de aprovao
prvia em concurso pblico de provas ou de provas e ttulos, de acordo
com a natureza e o grau de complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeaes para cargo em
comisso declarado em lei de livre nomeao ou exonerao.
A parte inicial do dispositivo clara quanto s hipteses em que se faz
imprescindvel o concurso pblico:cargos e empregos de provimento efetivo. No
esto sujeitos a concurso os cargos em comisso, que a partir de sua criao por lei
so de livre provimento para a Administrao; e os casos de contratao por tempo
determinado para atender a necessidade temporria de excepcional interesse
pblico, que exigem, em regra, apenas um processo seletivo simplificado, o qual no
pode ser equiparado a um concurso pblico.
As funes de confiana tambm no demandam concurso pblico para seu
preenchimento. O motivo da dispensa bastante simples: elas s podem ser exercidas
por ocupantes de cargo ou emprego pblico efetivo, que j se submeteram a concurso
quando do seu ingresso na Administrao.
Os concursos podem ser de duas espcies, de provas ou de provas e ttulos.
A realizao de prova, de um teste de conhecimentos para se aquilatar o preparo do
candidato a uma vaga na Administrao, exigncia que no pode ser superada. Para
aqueles cargos e empregos que requerem maior conhecimento tcnico ou cientfico,
abre-se a possibilidade de serem valorados tambm os ttulos dos candidatos, ou seja,
em linhas gerais, os certificados por meio dos quais eles comprovam seu conhecimento
na rea especfica do concurso.
Na nossa opinio, a exigncia de ttulos em certames pblicos deve ser restrita
aos cargos que exigem efetivamente conhecimento especfico em determinado campo,
como seria o caso de um concurso para o cargo de engenheiro da Petrobrs. Alm
disso, a nosso ver, nem mesmo em tais hipteses poderiam ter os ttulos carter
eliminatrio, limitando-se os seus efeitos para fins de classificao dos candidatos que
tivessem logrado aprovao nos testes de conhecimento.
A Constituio no exige um procedimento especfico para a realizao dos
concursos pblicos, determinando apenas que a forma eleita para o certame seja
fiuxada por lei e guarde conformidade com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego. Poderemos ter, portanto, concursos realizados em uma, duas ou mesmo
mais fases, como se observa nos certames para os cargos da magistratura, que em
regra so desenvolvidos em quatro etapas. Alm disso, ser possvel a realizao de
provas exigindo habilidades diversas, a se incluindo provas orais, discursivas, fsicas,
de digitao, entre outras.
Entre as diversas provas a que pode ser submetido o canditado, cabe um
comentrio especfico sobre os testes psicotcnicos. Entende o STF que a realizao
de tais testes admissvel, mas apenas quando observadas estas trs condies:
previso legal da exigncia; estabelecimento de critrios objetivos de carter
reconhecidamente cientfico para a avaliao do candidato; oferta ao candidato da
possibilidade de recorrer contra eventual resultado desfavorvel.
Quanto primeira das condies acima elencadas, editou o STF a seguinte smula:
686 - S por lei se pode sujeitar a exame psicotcnico a habilitao de candidato
a cargo pblico.
A jurisprudncia ptria, de um modo geral, tem considerado inconstitucionais, por
afronta ao princpio da isonomia, as previses de vantagens para algumas categorias
de pessoas ou mesmo de agentes pblicos, com base em critrios sem qualquer
relao com a natureza ou as atribuies do cargo. o caso, por exemplo, de editais
de concurso que consideram ttulo, para fins de classificao, o tempo de servio j
prestado ao rgo ou entidade onde se dar o provimento do cargo ou emprego.
Ainda de acordo com nossa jurisprudncia, entende-se que os candidatos inscritos
em determinado concurso no tm direito adquirido sua realizao, podendo a
Administrao desistir da realizao do certame por motivos de mrito, mesmo no
constatada qualquer irregularidade.
Por fim, o art. 37, 2, da CF, claro quanto s consequncias da no realizao
de concurso nas hipteses em que a adoo do procedimento medida obrigatria:
punio da autoridade responsvel e declarao de nulidade do ato de provimento.
1.1.5. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO E DIREITO NOMEAO
Os inc. III e IV do art. 37 da CF tratam do prazo de validade do concurso, da
sua prorrogao e da possibilidade de abertura de novo concurso dentro do
prazo de validade do concurso anterior.
O primeiro desses incisos declara ser de at dois anos o prazo inicial de
validade do concurso pblico, o qual pode ser prorrogado uma vez, por perodo igual
ao inicial.
A norma no fixe um prazo de validade mnimo, mas mximo, de 2 anos.
legtima, portanto, a abertura de um concurso com prazo de validade de um dia. Tal
prazo contado no da realizao das provas ou da nomeao dos candidatos, mas da
homologao do concurso. Por homologao entende-se o ato administrativo por
meio do qual a autoridade competente atesta que o certame foi validamente realizado.
A partir da publicao do ato homologatrio torna-se possvel a nomeao
(estatutrios) ou a celebrao do contrato (celetistas) dos candidatos aprovados, e
inicia-se o prazo de validade do concurso.
Como afirmado acima, a autoridade competente, praticando aqui um ato
discricionrio, pode decidir pela prorrogao do prazo de validade inicial. Tal
prorrogao s pode ser feita uma nica vez, e por prazo idntico ao inicialmente
fixado. Se este foi de um ano, p. ex., a prorrogao ser tambm por um ano. No
possvel prorrogar-se o prazo do concurso mais de uma vez, ou por prazo inferior ou
superior ao inicial.
Dentro desse prazo poder a Administrao nomear ou contratar candidatos
aprovados em nmero superior ao devagas inicialmente oferecidas. Num concurso
para cinquenta vagas, p. ex, poder ela convocar cinquenta, setente e cinco, cem
candidatos, independente do nmero de vagas, desde que todos os candidatos tenham
obtido a nota mnima de aprovao.
Entendia-se pacificamente, at pouco tempo atrs, que a Administrao poderia
optar tambm por nomear ou contratar candidatos em nmero inferior ao de vagas
oferecidas, ou mesmo no chamar nenhum candidato aprovado e, uma vez encerrado
o prazo de validade do concurso (o original ou sua prorrogao), imediatamente abrir
um novo concurso visando ao preenchimento das mesmas vagas, sem que houvesse
qualquer possibilidade dos candidatos anteriormente aprovados pleitearem
administrativa ou judicialmente seu ingresso no servio pblico, pois a aprovao num
concurso geraria to somente expectativa de direito para o candidato, e no direito
adquirido nomeao ou celebrao do contrato.
Em decises recentes, o STF tem se referido existncia de um direito
subjetivo nomeao, nos casos em que o candidato classificado dentro do
nmero de vagas oferecido inicialmente no edital. Como se nota, a Corte acena com
a possibilidade real de alterar seu posicionamento na questo, ao menos no que
concerne aos concursos que so abertos j com previso inicial de cargos ou empregos
a serem providos. Sobre o assunto ser necessrio aguardarmos novos julgamentos do
Tribunal.
Situao diversa a que se apresenta quando, ainda dentro do prazo de
validade do concurso, aberto um outro certame para os mesmos cargos ou empregos
pblicos. A esse respeito dispe o art. 37, IV, da CF, nos seguintes termos: durante o
prazo improrrogvel previsto no edital de convocao, aquele aprovado em concurso
pblico de provas ou de provas e ttulos ser convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
Embora a redao do dispositivo dificulte a sua compreenso, firmou-se o
entendimento de que o prazo improrrogvel a que ele se refere o prazo de
prorrogao da validade do certame. Assim, expressamente vedada a abertura de
um novo concurso dentro do prazo original de validade do concurso anterior, faculdade
existente apenas durante seu prazo de prorrogao.
Ocorre que, nesse caso, h outra restrio constitucional, pois os candidatos
aprovados no concurso anterior, cujo prazo de prorrogao ainda no expirou, tero
direito de preferncia na convocao em relao aos novos aprovados.
Desrespeitada essa ordem de convocao, os candidatos anteriormente aprovados
podero pleitear, dentro do nmero de vagas preenchidas, seu direito de ingresso
na Administrao Pblica.
No se probe a realizao do novo concurso ou sua homologao, mas
assegura-se aos aprovados no concurso anterior que, decidindo-se a Administrao
pela convocao, enquanto no decorrido o prazo final de validade de seu concurso,
eles tem prioridade com relao aos novos aprovados.
Essa a regra vlida, a princpio, para toda a Administrao Pblica, uma vez
que essa a amplitude do art. 37 da CF. Ocorre que a Lei 8.112/90, que rege os
servidores da Administrao Direta federal, suas autarquias e fundaes pblicas, traz
norma de contedo diverso. A referida lei, em seu art. 12, 2, expressamente
probe a abertura de concurso pblico enquanto houver candidato aprovado
em concurso anterior com prazo de validade no expirado. Aqui no h qualquer
dessemelhana entre o prazo inicial e o prazo de prorrogao da validade do concurso.
Ambos tm que estar encerrados ou, mesmo no encerrados, no pode haver mais
candidatos aprovados, para s ento poder ser reaberto outro concurso.
Observe-se que tal norma, por um lado, mais restritiva que a constitucional,
j que exige, para a abertura de novo concurso, em havendo ainda candidatos
aprovados no antecedente, que se tenha expirado tanto seu prazo original como o de
prorrogao. Por outro lado, ela permite a abertura de novo concurso mesmo dentro
do prazo de validade inicial do anterior: para isso basta que no existam mais
candidatos aptos convocao, seja porque j foram todos nomeados ou contratados,
seja porque no houve nenhum deles logrou aprovao no certame.
Em verdade, a acatar-se uma interpretao teolgica do art. 37, IV, da CF, de
se aceitar uma interpretao que entenda possvel a abertura de novo concurso
mesmo durante prazo de validade inicial do primeiro, desde que neste no exista
nenhum candidato aprovado. A norma tem a finalidade de proteger contra a abertura
de um novo certame candidatos aprovados em concurso anterior. Em no havendo
quaisquer candidatos que satisfaam essa condio aprovao -, a norma perde sua
razo de ser. Nesse caso deve-se ter por lcita a abertura de novo concurso, at
porque de outra forma as vagas oferecidas no primeiro ficariam por mais tempo
impedidas de serem preenchidas, em virtude da inexistncia de candidatos aprovados.
H outra hiptese em que o aprovado em concurso para determinado cargo
adquire direito nomeao: quando a Administrao convoca candidatos com
infringncia ordem de classificao. Nesse caso, os candidatos que se
classificaram dentro do nnero de vagas prenchidas podem pleiteiar com sucesso seu
ingresso no servio pblico. No caso da vaga destinar-se ao preenchimento de um
emprego pblico, ao candidato nessa situao reconhece-se o direito celebrao do
contrato.
O STF trata do assunto na Smula 15, que apresenta a seguinte redao:
Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito
nomeao, quando o cargo for preenchido sem observncia da classificao.
1.1.6. RESERVA DE PERCENTUAL DE CARGOS E EMPREGOS AOS PORTADORES
DE DEFICINCIAS
O inciso VIII do art. 37 da Constituio assim prescreve:
VIII a lei reservar percentual dos cargos e empregos pblicos para
as pessoas portadoras de deficincia e definir os critrios de sua
admisso;
importante ressaltar que a norma no est dispensando os deficientes da
realizao de concurso para ingresso na Administrao Pblica, mas apenas
determinando que lei de cada esfera de Governo que disciplinar o assunto reserve para
essas pessoas um percentual das vagas a serem futuramente providas mediante
concurso.
Aps a previso do percentual em lei, o edital de cada concurso definir a
sistemtica da reserva, se a mesma se comunica s vagas em geral ou segue
restrita aos deficientes, mesmo que estes venham a no preench-la por inteiro. O
mais comum que haja comunicao de vagas, ou seja, as vagas reservadas no
preenchidas, seja pela ausncia de interessados, seja pela sua aprovao em nmero
inferior ao oferecido, so prenchidas pelos candidatos as vagas em comum.
de se ressaltar que a reserva de vagas nunca poder resultar em prejuzo para o
deficiente. Se h candidato nessas condies, aprovado, cuja classificao
insuficiente para o preenchimento de uma das vagas reservadas, mas no para o
preenchimento de uma das vagas em geral, dever ser-lhe reconhecido o direito a
preencher uma destas, apesar de sua deficincia.
A comprovao da deficincia e a anlise de sua compatibilidade com as
atribuies do cargo ou emprego de responsabilidade de uma junta mdica oficial.
Esta, se verificar a inexistncia de deficincia que justifique a disputa em separado, ou
a existncia de deficincia incompatvel com as atribuies do cargo ou emprego,
dever excluir o candidato do concurso, ressalvado a este, judicial ou
administrativamente, o direito de impugnar a deciso.
H determinadas doenas que impedem o ingresso na Administrao Pblica. So
as denominadas doenas graves, previstas em lei, como reza o art. 40, 1, I, da
CF, que do direito aposentadoria por invalidez permanente. Na esfera federal,
a Lei 8.112/90 assim considera as seguintes doenas: tuberculose ativa, alienao
mental, esclerose mltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no
servio pblico, hansenase, cardiopatia grave, doena de Parkinson, paralisia
irreversvel e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avanados do mal de Paget (ostete deformante), Sndrome de Imunodeficincia
Adquirida AIDS, e outras a serem indicadas por lei, com base na medicina
especializada.
1.1.7. FUNES DE CONFIANA E CARGOS EM COMISSO
O inc. V do art. 37 da CF, alterado pela EC 19/98, apresenta atualmente a
seguinte redao:
V as funes de confiana, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargos efetivos, e os cargos em
comisso, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condies e percentuais mnimos previstos em lei, destinam-se apenas
s atribuies de direo, chefia e assessoramento(grifos nossos).
Deixando de lado, num primeiro momento, a anlise da parte final do
dispositivo, podemos facilmente inferir que ele diferencia nitidamente as funes de
confiana, que sero exercidas apenas por servidores ocupantes de cargo efetivo; dos
cargos em comisso, que sero preenchidos por servidores de carreira nos
percentuais mnimos a serem estabelecidos em lei.
A utilizao do verbo exercer para as funes de confiana deixa implcito
um entendimento que j predominava em seio doutrinrio antes mesmo da EC 19/98,
qual seja, a possibilidade de existirem funes sem um cargo a elas vinculado.
Tais funes podem ser consideradas apenas como um feixe de atribuies
administrativas, para cujo desempenho no necessria a titularizao de um cargo
ou a ocupao de um emprego especficos. Nos termos do inc. V do art. 37 as funes
de confiana so exercidas apenas por cupantes de cargos efetivos. O servidor ,
portanto, investido em seu cargo para desempenhar as atribuies que lhe so
prprias, podendo cumul-las tambm com o exerccio de determinada funo de
confiana, para o qual no se exige investidura especfica, ou exercer temporariamente
apenas as atribuies relativas funo de confiana.
Os cargos de comisso, segundo o inc. II do art. 37 da CF, caracterizam-se por
serem declarados em lei de livre nomeao e exonerao. Apesar disso, devero
ser preenchidos por servidores de carreira, isto , concursados, nos casos, condies e
percentuais mnimos previstos em lei.
Ao contrrio das funes de confiana, tais cargos ocupam um lugar na
estrutura organizacional da Administrao Pblica, de forma que o desempenho de
suas atribuies exige prvia investidura especfica. O servidor nomeado para
determinado cargo em comisso, ao passo em que designado para o exerccio de
uma funo de confiana. O provimento em cargo em comisso sempre feito a ttulo
precrio. Ele jamais d direito estabilidade, independente do tempo que ele seja
exercido pelo servidor.
Outra diferena com relao s funes de confiana que os cargos em comisso
podem ser ocupados por algum que no seja servidor pblico, pois, como dissemos
acima, sua principal caracterstica justamente serem eles de livre nomeao pela
autoridade competente. So tambm de livre exonerao, o que significa que seu
ocupante pode perder o vnculo com o servio pblico, mediante exonerao, por
deciso discricionria da autoridade que o nomeou, mesmo que esteja desempenhando
a contento suas atribuies. As funes de confiana, ao contrrio, s podem ser
exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo e, uma vez destitudo o servidor
de determinada funo (tambm por deciso discricionria), no ele exonerado do
servio pblico, apenas retorna ao exerccio das atribuies regulares de seu cargo
efetivo.
A tima parte do dispositivo, a ele acrescido pela EC 19/98, determina que as
funes de confiana e os cargos em comisso destinam-se apenas s atribuies de
direo, chefia e assessoramento. A alterao tem por finalidade, se no impedir, ao
menos dificultar a criao de funes de confiana e cargos em comisso sem qualquer
motivo legtimo, apenas como meio de burlar a exigncia de concurso pblico.
1.1.8. CONTRATAO TEMPORRIA
Dispe o art. 37, IX, da CF:
IX a lei estabelecer os casos de contratao por tempo
determinado para atender a necessidade temporria de excepcional
interesse pblico;
Como ensinam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na esfera federal, a
contratao por prazo determinado encontra-se disciplinada pela Lei n
o
8.745/1993,
bastante alterada pela Lei n
o
9.849/1999 e pela Lei n 10.667/2003. Seu mbito de
aplicao restringe-se aos rgos da Administrao Federal direta, s autarquias e s
fundaes pblicas federais. O pessoal contratado com base nessa lei no pode ser
considerado estatutrio (pois o regime jurdico trabalhista a que se submetem
contratual) e nem celetista (no so regidos pela CLT). No ocupam cargos na
Administrao Pblica. O regime de previdncia social a que esto sujeitos o regime
geral, aplicvel a todos trabalhadores civis, com exceo dos ocupantes de cargos
pblicos efetivos. Podemos dizer que os contratados com base na Lei n
o
8.745 tm um
emprego pblico temporrio ou exercem funo pblica remunerada temporria para
determinado rgo ou entidade da Administrao.
A Le 8.745/93, em obedincia ao mandamento constitucional, enumera as
hipteses que podem ser enquadradas como caracterizadoras da necessidade
temporria de excepcional interesse pblico, e que permitem a contratao de
pessoal por tempo determinado.
Os citados autores elencam, dentre as hipteses descritas em lei, aquelas que
consideram mais relevantes:
1) assistncia a situaes de calamidade pblica;
2) combate a surtos endmicos;
3) realizao de recenseamentos e outras pesquisas de natureza
estatstica efetuadas pela Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica IBGE (talvez essa seja a hiptese mais freqentemente
utilizada; observe-se que a autorizao somente se aplica ao IBGE e a
nenhuma outra entidade da Administrao Federal);
4) admisso de professor substituto e professor visitante;
5) admisso de professor e pesquisador visitante estrangeiro; etc.
Segundo a Lei 8.745/93, na esfera federal a contratao temporria no se d
mediante concurso, mas por processo seletivo simplificado. Em regra, ser
necessrio algum tipo de teste de conhecimentos, por mais simples que seja, que
permita, com base de critrios objetivos, selecionar os mais aptos para a contratao
temporria.
Tal concluso decorre da interpretao das disposies da Lei, que dispensa
qualquer processo seletivo em caso de calamidade pblica, e admite que ele seja feito
pela mera anlise curricular, quando se tratar da contratao de professores visitantes
nacionais ou estrangeiros, pesquisadores visitantes estrangeiros, e alguns outros
profissionais. Como a Lei silencia nas demais hipteses de contratao temporria,
infere-se que para elas se exige alguma espcie de teste de conhecimentos.
A Lei estabelece os prazos mximos de durao dos contratos. Alm disso,
prescreve a impossibilidade de sua prorrogao como regra geral, admitando-a,
em algumas hipteses, dentro de certos limites.
Os contratos podem ser encerrados antes do decurso de seu prazo, a pedido do
contratado; ou pelo simples transcurso do seu perodo de durao. Em ambos os
casos, a resciso d-se sem nus para qualquer das partes. A Administrao tambm
poder rescindir o contrato antes do prazo, mas neste caso indenizar o contratado
em valor correpondente metade do que lhe caberia se o contrato fosse
cumprido integralmente.
1.2. DIREITO DE ASSOCIAO SINDICAL DOS SERVIDORES PBLICOS
CIVIS
Reza o inc. VI do art. 37 da Constituio:
VI garantido ao servidor pblico civil o direito livre associao
sindical;
A norma auto-aplicvel, garantindo por si s aos servidores pblicos civis o
direito livre associao sindical. Para os militares a disciplina exatamente a oposta,
uma vez que o art. 142, IV, da Carta, veda-lhes o direito sindicalizao e greve.
Os dissdios entre os servidores pblicos e a Administrao direta, autrquica e
fundacional so resolvidos perante a Justia Federal, sendo a Justia do Trabalho
competente apenas para o julgamento das causas envolvendo empregados pblicos.
1.3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PBLICOS CIVIS
O direito de greve dos servidores necessita da edio de lei especfica para
adquirir eficcia (CF, art. 37, VII). O STF j decidiu que, enquanto no editada a
referida lei, no podem os servidores deflagrar qualquer movimento paredista. A partir
desse posicionamento da Corte, so legtimas medidas como o corte do ponto de
servidores em paralisao.
Aos empregados das empresas pblicas e das sociedades de economia
mista aplica-se disciplina distinta, uma vez que o art. 9 da CF, em dispositivo auto-
aplicvel, assegura-lhes o direito de greve, sem qualquer condicionamento
elaborao de futura legislao.
Entendemos que os empregados pblicos da Administrao direta,
autrquica e fundacional tambm tm direito ao exerccio da greve, independente
da edio de qualquer lei sobre a matria, aplicando-se-lhes as disposies do art. 9
da CF, e no as do art. 37, VII, restritas aos servidores pblicos.
1.4. REGRAS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES REMUNERAO DOS
AGENTES PBLICOS
1.4.1. ESPCIES REMUNERATRIAS, FIXAO DA REMUNERAO E
REVISO GERAL
A partir da entrada em vigor da EC n 19/98, o sistema remuneratrio dos
agentes pblicos passou a abranger trs categorias diferenciadas :
1) subsdio: a Constituio determinou que os agentes polticos e algumas categorias
de servidores pblicos fossem remunerados por subsdio, alm de admitir sua adoo
por lei a todos os servidores pblicos que tenham seu quadro funcional organizado em
carreira. Caracteriza-se ele por ser um estipndio fixado em parcela nica, vedado o
acrscimo de qualquer outra gratificao, adicional, abono, prmio, verba de
representao ou outra espcie remuneratria. Importantes autores entendem que,
apesar de encontrar-se expressa no texto constitucional a regra que determina a
fixao do subsdio em parcela nica, essa unicidade deve ser interpretada com
moderao, uma vez que, em determinadas circunstncias, no se poder negar o
acrscimo de outras parcelas remuneratrias ao subsdio, como o adicional de hora
extra no caso de servio extraordinrio. A ressalva vlida apenas para os servidores,
no para os agentes polticos, pois para aqueles a CF, no 3 do art. 37, determinou a
extenso de diversos direitos assegurados aos trabalhadores em geral;
2) vencimentos: espcie remuneratria aplicvel aos servidores pblicos, sujeitos
ao regime estatutrio. Os vencimentos (no plural) so decompostos em duas
parcelas: o vencimento (no singular), que corresponde ao valor bsico fixado em lei
para o desempenho do cargo, e as vantagens pecunirias, valores tambm
estabelecidos em lei e que acrescem ao vencimento, a exemplo das gratificaes e
adicionais. Muitos doutrinadores e mesmo diversos diplomas legais utilizam o termo
remunerao em vez de vencimentos. Nessa acepo, em sentido amplo,
remunerao corresponderia s diversas modalidades de estipndio dos agentes
pblicos e, em sentito estrito, seria o valor pago aos servidores (estatutrios) pelo
desempenho de seu cargo, valor esse composto de uma parcela bsica (o vencimento)
e uma parcela varivel (as diversas vantagens pecunirias);
3) salrio: a contraprestao pecuniria paga aos empregados pblicos,
contratados sob o regime celetista pelas pessoas jurdicas administrativas de direito
privado (empresas pblicas, sociedades de economia mista e fundaes pblicas de
direito privado) ou mesmo de direito pblico (Administrao Direta, autarquias e
fundaes de direito pblico). A exemplo dos vencimentos (ou remunerao, em
sentido estrito), composto de uma parte fixa e de uma parte varivel.
A fixao e alterao da remunerao e do subsdio, assim como sua
reviso geral anual, so assuntos tratados pelo mesmo dispositivo da CF, o art. 37,
X, tambm alterado pelo Emenda Constitucional n 19/98. A redao da norma a
seguinte:
X a remunerao dos servidores pblicos e o subsdio de que trata o
4 do art. 39 somente podero ser fixados ou alterados por lei
especfica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
reviso geral anual, sempre na mesma data e sem distino de ndices;
Quanto fixao e alterao da remunerao e dos subsdios, o primeiro ponto
de destaque que a matria demanda lei especfica, ou seja, lei que s trate do
assunto em questo e de mais nenhum outro. Em segundo, deve ser observada a
iniciativa privativa em cada caso, conforme as regras dispostas ao longo do texto
constitucional, as quais, a nvel federal, podem ser assim condensadas:
1) a iniciativa privativa do Presidente da Repblica para os cargos Poder
Executivo federal (CF, art. 61, 1, II, a);
2) para os cargos da Cmara dos Deputados, a iniciativa das leis que fixe
ou altere sua remunerao ser privativa desta Casa (CF, art. 51, IV);
3) quanto aos cargos do Senado Federal, compete privativamente a esta
Casa a iniciativa das leis que fixem ou alterem suas remuneraes (CF,
art. 52, XIII);
4) no Poder Judicirio, compete ao Supremo Tribual Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justia apresentar ao Poder Legislativo
respectivo proposta de lei que trate da fixao e alterao da
remunerao de seus servios auxiliares e dos juzos que lhe forem
vinculados, bem como o subsdio dos magistrados, inclusive dos
tribunais inferiores (CF, art. 96, II, b);
5) a fixao do subsdio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aps a
edio da EC 41/2003 de iniciativa privativa do prprio STF. A referida
emenda no mais exige proposta de lei de iniciativa conjunta dos
Presidentes da Repblica, da Cmara dos Deputados, do Senado Federal
e do Supremo Tribunal Federal para a fixao desses subsdios;
6) a fixao do subsdio dos Deputados Federais, dos Senadores, do
Presidente e do Vice-Presidente da Repblica e dos Ministros de Estado
da competncia exclusiva do Congresso Nacional, mediante decreto
legislativo, espcie legislativa no sujeita sano ou veto do Presidente
da Repblica;
7) quanto aos Tribunais de Contas, cabe a cada Tribunal elaborar o projeto
de lei especfica que trate da fixao e alterao da remunerao de seus
servidores (art. 73, caput, combinado com o art. 96, II, b);
8) por fim, o Ministrio Pblico da Unio e o Ministrio Pblico dos Estados,
tm competncia para elaborar o projeto de lei especfica que trate da
fixao e da alterao do subsdio de seus membros e da remunerao de
seus servidores.
O inc. X do art 37, na sua parte final, traz a previso de reviso geral anual da
remunerao e do subsdio dos servidores pblicos e agentes polticos, sempre na
mesma data e sem distino de ndices.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a norma no se aplica aos militares (que
no mais integram o conceito de servidores pblicos), que podem ter sua remunerao
revista em data diversa e em ndices diferentes que o pessoal civil, apesar do
entendimento manifestado por alguns autores de que o ndice de reviso tem que ser
idntico para todos os agentes administrativos estatutrios de cada esfera de Governo.
Em segundo, a norma estabelece o princpio da periodicidade anual para a
reviso geral da remunerao e do subsdio. No se trata tal reviso, bom que se
diga, de um verdadeiro aumento, mas apenas de recomposio do poder aquisitivo
do estipndio, em vista dos efeitos deletrios sobre ele incidentes em decorrncia do
fenmeno inflacionrio.
1.4.2. LIMITES DE REMUNERAO DOS SERVIDORES PBLICOS (TETO
CONSTITUCIONAL)
O teto remuneratrio dos servidores pblicos estabelecido pelo art. 37, XI da
CF, recentemente alterado pela EC 41/2003. Atualmente a norma vazada nos
seguintes termos:
XI a remunerao e o subsdio dos ocupantes de cargos, funes e
empregos pblicos da administrao direta, autrquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da Unio, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municpios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes polticos e os proventos, penses ou outra
espcie remuneratria, percebidos cumulativamente ou no, includas
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, no podero
exceder o subsdio mensal, em espcie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municpios, o subsdio
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsdio mensal do
Governador no mbito do Poder Executivo, o subsdio dos Deputados
Estaduais e Distritais no mbito do Poder Legislativo e o subsdio dos
Desembargadores do Tribunal de Justia, limitado a noventa inteiros e
vinte e cinco centsimos por cento do subsdio mensal, em espcie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no mbito do Poder
Judicirio, aplicvel este limite aos membros do Ministrio Pblico, aos
Procuradores e aos Defensores Pblicos
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo fazem uma sntese dos principais aspectos
concernentes aos tetos remuneratrios constitucionais aps a EC 41/2003. Segundo os
autores:
a) H um teto absoluto, correspondente ao subsdio dos Ministros do STF,
a ser fixado em lei de iniciativa do STF, estando o projeto de lei resultante,
como qualquer outro projeto de lei, sujeito sano ou veto do Presidente
da Repblica. Esse teto no pode ser ultrapassado por nenhum Poder em
nenhuma esfera da Federao.
b) Alm do limite absoluto representado pelo subsdio dos Ministros do STF,
o texto constitucional estabelece limites para os estados, o DF e os
municpios, a saber: (1) nos municpios, o teto o subsdio percebido pelo
Prefeito; (2) nos estados e no DF h um limite diferenciado por poder,
correspondendo ao subsdio mensal do Governador, para o Poder Executivo,
ao subsdio dos deputados estaduais e distritais, no Poder Legislativo, e ao
subsdio dos desembargadores do Tribunal de Justia, no mbito do Poder
Judicirio. Logo, na esfera federal, h somente um limite o subsdio dos
ministros do STF , ao passo que, nas demais esferas, h, alm deste, um
outro limite, comumente referido como subteto dos estados, Distrito
Federal e municpios (cumpre notar que nem sempre esse subteto ser
inferior ao subsdio dos Ministros do STF, uma vez que possvel que o
subsdio recebido pelo Governador de um estado ou do DF, ou o subsdio a
que faa jus o Prefeito de um municpio, seja igual ao auferido pelos
Ministros da Corte Mxima).
c) Os subsdios dos desembargadores do Tribunal de Justia no podem ser
superiores a 90,25% do subsdio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
e servem de limite, tambm, aos membros do Ministrio Pblico estadual,
aos procuradores estaduais e aos defensores pblicos estaduais.
d) Os subsdios dos Governadores e dos Prefeitos no podem ser superiores
ao subsdio dos Ministros do STF, mas nada impede que sejam iguais a
este. Com relao aos parlamentares estaduais e distritais, no haveria
mesmo, de forma alguma, possibilidade de seus subsdios ultrapassarem o
dos Ministros do STF, uma vez que o art. 27, 2, da Constituio
estabelece que o subsdio dos deputados estaduais deve ser de, no
mximo, 75% do fixado para os deputados federais (o art. 32, 3, da
Constituio manda aplicar aos deputados distritais as mesmas regras
pertinentes aos estaduais). Ora, como os deputados federais tm seu
subsdio limitado ao dos Ministros do STF, os subsdios dos deputados
estaduais e distritais jamais poderiam ser superiores ao destes (sero
sempre, no mnimo, 25% inferiores).
e) Os limites incluem todas as espcies remuneratrias e todas as parcelas
integrantes do valor total percebido, includas as vantagens pessoais ou
quaisquer outras.
f) Os limites abrangem os valores resultantes de acumulao de
remuneraes ou subsdios, ou de remuneraes ou subsdios com
proventos, penses ou qualquer outra espcie remuneratria, seja ou no
lcita a acumulao.
g) Por fora do comando do art. 17 do Ato das Disposies Constitucionais
Transitrias (ADCT), os vencimentos, a remunerao, as vantagens e os
adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo
percebidos em desacordo com a Constituio sero imediatamente
reduzidos aos novos limites dela decorrentes, no se admitindo, nesse
caso, invocao de direito adquirido ou percepo de excesso a qualquer
ttulo.
h) Relativamente ao salrio dos empregados pblicos das empresas
pblicas e das sociedades de economia mista, e suas subsidirias, os tetos
somente se aplicam quelas que receberem recursos da Unio, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municpios para pagamento de
despesas de pessoal ou de custeio em geral (CF, art. 37, 9).
Entendemos que os empregados pblicos da Administrao Direta federal e
das autarquias e fundaes pblicas federais contratados nos termos da Lei
n 9.962/2000 esto submetidos ao teto constitucional, no podendo seus
salrios ser superiores ao subsdio dos Ministros do STF, uma vez que o
inciso alude a cargos, funes e empregos pblicos.
1.4.3. LIMITE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PODERES
LEGISLATIVO E JUDICIRIO
Dispe o art. 37, XII:
XII os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judicirio no podero ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo;
A regra vlida apenas para cargos com funes assemelhadas no mbito dos
Trs Poderes. Ela impede que servidores que tenham atribuies semelhantes nos
Poderes legislativo e Judicirio recebam vencimentos superiores aos que se encontram
nas mesmas condies do Poder Executivo. Por exemplo, se um auxiliar administrativo
receber R$ 750, 00 a ttulo de vencimentos no Poder Executivo, os auxiliares
administrativos nos Poderes Legislativo e Judicirio no poderiam receber valor
superior.
vlido lembrar que foi retirada do texto constitucional a regra expressa,
constante do art. 39, 1, que assegurava isonomia de vencimentos aos servidores
dos Trs Poderes, subsistindo apenas a regra posta no inc. XII do art. 37, que
determina como limite os vencimentos pagos pelo Poder Executivo.
1.4.4. VEDAO DE VINCULAES E EQUIPARAES
A vedao vinculao ou equiparao de quaisquer espcies remuneratrias
para o efeito de remunerao do pessoal do servio pblico matria regrada no inc.
XIII do art. 37 da CF. O dispositivo tambm foi objeto de alterao pela EC 19/98, a
qual conferiu-lhe maior amplitude, pois na redao anterior vedava-se apenas a
equipao ou vinculao de vencimentos, e no de quaisquer espcies
remuneratrias, como consta na redao atual. A regra abrange no s os servidores
pblicos, titulares de cargos, mas tambm os empregados pblicos, ocupantes de
empregos, alm dos agentes pblicos que recebem por subsdio.
Equiparar conferir remunerao igual para cargos ou empregos com funes
distintas (p. ex, equiparar a remunerao dos auditores fiscais com a dos delegados de
polcia); vincular relacionar automaticamente o aumento da remunerao de um
cargo ou emprego de outro, por meio de percentuais (p.ex., estabelecer que a
remunerao de um escrivo 80% da de um delegado de polcia, de forma que o
aumento de remunerao deste implicar automaticamente no acrscimo tambm da
remunerao daquele, conforme o percentual fixado).
Tanto a vinculao quanto a equiparao so, portanto, proibidas ressalvando-se,
porm, aquelas institudas pela prpria Carta, como a equipao do subsdio dos
Ministros do Tribunal de Contas da Unio ao dos Ministros do Superior Tribunal de
Justia, de acordo com o art. 73, 3, da CF.
Sobre o tema o STF editou a Smula 681, que tem a seguinte redao:
681 - inconstitucional a vinculao do reajuste de vencimentos de servidores
estaduais ou municipais a ndices federais de correo monetria.
1.4.5. BASE DE INCIDNCIA DE ACRSCIMOS PECUNIRIOS
O art. 37, XIV, da CF, apresenta o seguinte teor:
XIV os acrscimos pecunirios percebidos por servidor pblico no
sero computados nem acumulados para fins de concesso de
acrscimos ulteriores;
A norma tambm foi alterada pela EC 19/98, a qual conferiu-lhe maior alcance.
Antes da mudana a norma limitava-se a vedar que os acrscimos anteriores,
concedidos sob idntico fundamento, fossem considerados para fins de concesso
de outros acrscimos. Atualmente o dispositivo no faz tal ressalva, de forma que os
acrscimos anteriores, qualquer que seja seu fundamento, no podero ser
computados ou acumulados para fins de concesso de acrscimos ulteriores.
A interpretao da norma atualmente simples: ela obriga que qualquer
vantagem pecuniria concedida ao servidor incida apenas sobre o vencimento
bsico do cargo. Por exemplo, se um servidor recebe R$ 2.000,00 de vencimento
bsico e R$ 1.000,00 de gratificao pelo exerccio de chefia, qualquer vantagem a ele
posteriormente concedida incidir apenas sobre os R$ 2.000,00, que correspondem ao
seu vencimento bsico.
1.4.6. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS E SUBSDIOS
a redao do art. 37, XV, da CF:
XV o subsdio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos pblicos so irredutveis, ressalvado o disposto nos incisos
XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, 4
o
, 150, II, 153, III, e 153,
2
o
, I;
Sobre o assunto, ensina Vicente paulo que importante problema deste dispositivo
sua impreciso terminolgica, consubstanciada na referncia a vencimentos de
empregos pblicos. Ora, empregado pblico, regido pela CLT, recebe salrio, e os
salrios possuem regra prpria, constante do art. 7
o
, VI, da Constituio, que, apesar
de assegurar a irredutibilidade, ressalva o disposto em conveno ou acordo coletivo.
A norma em questo permite a reduo de vencimentos pela aplicao do
disposto no inc XIV do art. 37. Ou seja, se o servidor recebe acrscimos posteriores
calculados a partir de outras parcelas pecunirias, alm de seu vencimento bsico,
poder ter sua remunerao reduzida para se ajustar ao inciso XIV.
Tambm no se pode alegar o direito irredutibilidade quando for ultrapassado o
teto constitucional, como resta claro com a leitura da parte final do inc. XV.
A irredutibilidade de vencimentos e subsdios no argumento vlido para se
pleitear reajuste remuneratrio. Entende o STF que a Constituio, no inc. XV do art.
37, conferiu apenas uma garantia de ordem formal aos servidores pblicos, que no
protege contra o fenmeno inflacionrio. Por outra via, significa afirmar que, segundo
entende a Corte, respeitado o valor nominal dos vencimentos e subsdios, pouco
importa se a inflao corroeu seu poder aquisitivo. No h como, a partir do citado
dispositivo, pretender-se qualquer acrscimo pecunirio em relao ao valor pago.
1.5. VEDAO ACUMULAO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNES
PBLICOS
A norma constitucional que estabelece, em termos, gerais, a proibio de
acumulao remunerada de cargos, empregos e funes pblicas, bem como as
excees a tal proibio, est disposta no art. 37, XVI e XVII, da CF, nos seguintes
termos:
XVI vedada a acumulao remunerada de cargos pblicos, exceto
quando houver compatibilidade de horrios, observado em qualquer caso
o disposto no inc. XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, tcnico ou cientfico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da sade,
com profisses regulamentadas;
XVII a proibio de acumular estende-se a empregos e funes, e
abrange autarquias, fundaes, empresas pblicas, sociedades de
economia, suas subsidirias e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder pblico;
A alnea c do art. 37, na sua redao original, admitia apenas a acumulao de
dois cargos de mdico, desde que houvesse compatibilidade de horrios para o seu
exerccio.
Para os demais profissionais de sade (dentistas, enfermeiros etc) no existia
disposio similar no corpo permanente da Constituio, mas apenas uma norma
transitria inscrita no art. 17, 2, do Ato das Disposies Constitucionais
Transitrias, segundo a qual se assegurava o exerccio cumulativo de dois cargos ou
empregos privativos desses profissionais, mesmo no regulamentada a respectiva
profisso, desde que j houvesse a acumulao quando da entrada em vigor da
Constutio. Prestigiavam-se, portanto, as situaes j consolidadas em 05-10-1988,
no se admitindo, a partir da, a referida acumulao, restrita aos mdicos, como
expusemos acima.
Tal situao foi alterada pela Emenda Constitucional n 34/2001, que alterou a
retrocitada norma, a qual passou a admitir a acumulao de dois cargos e empregos
pblicos no s aos mdicos, mas a todos os profissionais de sade cuja profisso
seja regulamentada, desde que a mesma seja de exerccio privativo desses
profissionais e que haja compatibilidade de horrios entre os cargos ou empregos
pblicos.
Em outras normas, esparsas ao longo do texto constitucional, encontramos
tambm hipteses de acumulao lcita:
- a acumulao obrigatria para os servidores da Administrao direta, autrquica e
fundacional, quando eleitos para o mandato de vereador, os quais, se houver
compatibilidade de horrio, devero desempenhar cumulativamente as funes do seu
cargo e as atribuies do mandato (CF, art. 38, III);
- a permisso para que os membros do Ministrio Pblico exeram o magistrio (CF,
art. 128, 5, II, d)
- a autorizao para que os magistrados exeram uma funo de magistrio (CF, art.
95, pargrafo nico, I).
Os dispositivos acima arrolados tratam apenas das hipteses em que o servidor
encontra-se em atividade com relao a todos os cargos, empregos ou funes. O
texto constitucional original, tal como promulgado em outubro de 1988, no trazia
qualquer regra concernente possibilidade da percepo simultnea de remunerao
com proventos de aposentadoria.
Inobstante tal omisso, o STF adotava o entendimento de que a proibio
acumulao alcanava tambm os proventos percebidos pelo servidor na inatividade. A
Emenda 20/98 veio sanar a ausncia de regramento quanto matria, ao acrescentar
o art. 37, 10, ao texto constitucional, com a seguinte redao:
10 vedada a percepo simultnea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos art. 42 e 142 com a remunerao de
cargo, emprego ou funo pblica, ressalvados os cargos acumulveis na
forma desta Constituio, os cargos eletivos e os cargos em comisso
declarados em lei de livre nomeao e exonerao.
Os art. 40, 42 e 142 da CF referem-se, respectivamente, aos servidores
nomeados mediante concurso para a ocupao de cargos efetivos, aos militares das
Polcias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, e aos militares das Foras
Armadas. Quaisquer destes servidores, quando aposentados, no podero receber
simultaneamente remunerao pelo exerccio de cargo emprego ou funo pblica,
salvo quando a acumulao dos proventos de aposentadoria se der com a
remunerao de cargos:
- acumulveis, na forma da Constituio: o caso, por exemplo, de um mdico
aposentado que ingressar novamente no servio pblico em outro cargo privativo de
mdico;
- eletivos: por exemplo, um fiscal de tributos aposentado eleito como deputado
estadual poder licitamente acumular seus proventos da inatividade com o subsdio
pelo exerccio do mandato;
- em comisso: o caso, por exemplo, de um magistrado aposentado nomeado para
ocupar o cargo em comisso de Secretrio de Justia, percebendo simultaneamente
seus proventos pela aposentadoria no cargo efetivo e o subsdio pelo exerccio do
cargo em comisso.
Alm destas hipteses, lcita a acumulao de remunerao com proventos
de aposentadoria pelo regime geral da Previdncia Social.
A EC 20/98, no art. 11, estabeleceu uma regra de transio para o art. 37,
10, dele excluindo aqueles que, aposentados quando da publicao da emenda,
j haviam poca novamente ingressado na Administrao mediante
consurso pblico. A eles, entretanto, foi vedada a possibilidade de acumularem duas
aposentadorias conta do regime previdencirio prprio dos servidores. Se o
segundo ingresso foi nas entidades privadas da Administrao Indireta, ser possvel a
percepo simultnea dos proventos pelo regime previdencirio prprio dos servidores
com os proventos do regime de previdncia geral (aplicvel aos integrantes das
entidades de direito privado da Administrao Pblica Indireta).
Sempre que for admissvel a acumulao devero ser observados os tetos
remuneratrios previstos no art. 37, XI, da CF.
Uma questo de que no trata o texto constitucional a possiblidade de o servidor
aposentado em determinado cargo, frente a uma hiptese de acumulao vedada,
renunciar aos proventos de aposentadoria referentes quele cargo e passar a ocupar
um novo cargo pblico de provimento efetivo, passando a perceber a remunerao a
ele correspondente. Entendemos regular a posse do servidor no novo cargo, bem como
a percepo da respectiva remunerao, a partir do momento em que ele renuncia aos
proventos de aposentadoria referentes ao seu cargo anterior. Nessa hiptese, no
haver percepo simultnea de proventos e remunerao.
2. DISPOSIES CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AOS SERVIDORES EM
EXERCCIO DE MANDATOS ELETIVOS
So de simples entendimento as regras constitucionais que regulam a situao
do servidor da administrao direta, autrquica e fundacional quando eleito para
o exerccio de cargo eletivo.
O art. 38 da CF dispe a respeito, nos seguintes termos:
Art. 38. Ao servidor pblico da administrao direta, autrquica e
fundacional, no exerccio de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
disposies:
I tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficar
afastado de seu cargo, emprego ou funo;
II investido no mandato de Prefeito, ser afastado do cargo, emprego
ou funo, sendo-lhe facultado optar por sua remunerao;
III investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de
horrios, perceber as vantagens de seu cargo, emprego ou funo, sem
prejuzo da remunerao do cargo eletivo, e, no havendo
compatibilidade, ser aplicada a norma do inciso anterior;
IV em qualquer caso que exija o afastamento para o exerccio do
mandato eletivo, seu tempo de servio ser contado para todos os
efeitos legais, exceto para promoo por merecimento;
V para efeito de benefcio previdencirio, no caso de afastamento, os
valores sero determinados como se no exerccio estivesse.
As regras podem ser assim sintetizadas:
- quando eleito para qualquer cargo do Poder Executivo ou Legislativo federal, distrital
ou estadual, o servidor obrigatoriamente deve afastar-se de seu cargo, emprego ou
funo, recebendo apenas o subsdio pelo exerccio do cargo eletivo;
- quando eleito para o cargo de Prefeito dever o servidor necessariamente afastar-se
de seu cargo, emprego ou funo, como no caso anterior, mas nessa hiptese o
servidor poder escolher entre continuar recebendo sua remunerao ou passar a
receber o subsdio do cargo de Prefeito;
- investido no mandato de vereador o servidor, se houver compatibilidade de horrios,
dever obrigatoriamente acumular o exerccio das atribuies de seu cargo, emprego
ou funo com as do mandato eletivo, bem como a remunerao e o subsdio relativos
a cada um deles; se no houver, exercer apenas as funes da vereana, mas, ainda
assim, poder optar pelo subsdio respectivo ou pela remunerao de seu cargo,
emprego ou funo;
- o tempo em que o servidor permanecer no exerccio do mandato eletivo, quando
afastado de seu cargo, emprego ou funo, ser considerado como de efetivo exerccio
para todos os efeitos legais (promoo por antiguidade, disponibilidade remunerada
etc), salvo para promoo por merecimento;
- os benefcios previdencirios eventualmente concedidos ao servidor afastado (auxlio-
doena, auxlio-acidente etc) tero por base a remunerao de seu cargo, emprego ou
funo, mesmo que poca da concesso ele esteja recebendo pelo regime de
subsdio.
Todas as regras acima expostas so vlidas apenas para os servidores da
administrao direta, autquica e fundacional. Note-se que, apesar do art. 38 da CF,
em seu caput, utilizar-se do termo servidores, o que num primeiro momento
restringiria seu alcance apenas aos agentes pblicos sujeitos a regime estatutrio, em
seus diversos incisos h meno reiteradamente ao termo emprego, o que nos
permitiria concluir que os empregados pblicos da administrao direta, autrquica e
fundacional, mesmo regidos pelo regime celetista, tambm estariam abrangidos pelo
artigo. No conhecemos jurisprudncia a respeito para adotar um posicionamento
definitivo sobre a matria.
3. DISPOSIES CONSTITUCIONAIS ESPECFICAS SOBRE OS
SERVIDORES PBLICOS
Neste ponto analisaremos os art. 39 e 41 da Constituio, que trazem regras de
aplicao exclusiva aos sevidores pblicos.
3.1. PLANOS DE CARREIRA E SISTEMA REMUNERATRIO DOS SERVIDORES
PBLICOS
Reza o art. 39, caput e 1 e 2:
A Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios instituiro conselho de
poltica de administrao e remunerao de pessoal, integrado por servidores
designados pelos respectivos Poderes.
1 A fixao dos padres de vencimento e dos demais componentes do
sistema remuneratrio observar:
I a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira;
II os requisitos para a investidura;
III as peculiaridades dos cargos.
2 A Unio, os Estados e o Distrito Federal mantero escolas de governo para
a formao e o aperfeioamento de servidores pblicos, constituindo-se a
participao nos cursos um dos requisitos para a promoo na carreira,
facultada , para isso, a celebrao de convnios ou contratos entre os entes
federados.
Na sua redao original o art. 39, em seu caput, exigia que os entes federados
adotassem planos de carreira para seus servidores. Como se percebe, na redao atual
da norma, dada pela EC 19/98, no consta mais expressamente tal exigncia.
Todavia, verifica-se que na norma segue exigindo, em termos implcitos, a
instituio de carreiras por cada uma das unidades federadas, com relao aos seus
servidores. Tal concluso sobressai do inciso I do 1 do art. 39, que estabelece como
um dos critrios a serem observados para a fixao da remunerao a natureza, o
grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira.
Ademais, todos os dispositivos transcritos trazem a ntida inteno de promover a
profissionalizao dos servidores pblicos. E, sem dvida, sua organizao em carreira
uma das medidas indispensveis para se atingir esse objetivo.
3.2. PRINCIPAIS DIFERENAS ENTRE O REGIME ESTATUTRIO E O
CONTRATUAL
Antes de comentarmos os especficos regimes de pessoal existentes no mbito da
Administrao Federal, necessrio apresentarmos rapidamente as principais
diferenas entre o regime estatutrio, tpico das pessoas de direito pblico e
aplicvel aos servidores pblicos; e o contratual (ou celetista), caracterstico das
pessoas de direito privado e aplicvel aos empregados pblicos.
Em primeiro lugar, o regime contratual, em virtude de sua natureza
essencialmente bilateral, s admite alterao na posio jurdica do empregado
com sua anuncia, ao passo que as regras do regime estatutrio podem ser
alteradas independente da anuncia do servidor. E isso porque todos os aspectos
jurdicos concernentes ao vnculo estatutrio decorrem diretamente da lei; se esta
for alterada, automaticamente aqueles tambm o sero, ressalvadas as situaes j
definitivamente consolidadas, protegidas pela garantia do direito adquirido; ao passo
que a fora normativa do regime contratual advm diretamente do contrato, de
forma que lei superveniente (ato unilateral) no poder alter-lo, salvo se com a
alterao concordarem o empregado e o empregador (ato bilateral). Qualquer
modificao legal atingir unilateralmente apenas contratos futuros.
Este um ponto em que os empregados em geral, e os empregados pblicos em
particular, levam vantagem sobre os servidores estatutrios. Para estes, contudo, e
esta a segunda diferena digna de relevo, so previstos alguns direitos sem
similar no regime trabalhista comum, dentre os quais sobressai a estabilidade.
Esta garantia, como nenhuma outra, embora recentemente alterada pela EC 19/98,
assegura aos servidores estatutrios uma relativa independncia no desempenho de
suas atribuies, pois impede sua exonerao sem justa causa. O regime contratual,
como posto na CLT, no prev garantia similar, o que significa que nele no h norma
que impea o rompimento do vnculo laboral por ato unilateral do empregador, mesmo
sem justa causa por parte do empregado. A este, assegurado apenas o direito
percepo de verbas adicionais em decorrncia da despedida imotivada.
3.3. A EXTINO DA OBRIGATORIEDADE DO REGIME JURDICO NICO E O
MBITO DE APLICAO DA LEI 8.112/90
O caput do art. 39 da CF, na sua redao original, exigia a adoo de um
regime jurdico nico para os servidores da Administrao direta, autrquica e
fundacional de cada uma das esferas de Governo. Era livre a opo por um regime
estatutrio ou por um regime de carter contratual, desde que fosse o mesmo
aplicvel a todos os servidores das pessoas administrativas de direito pblico de cada
ente federativo. Cada estado, cada municpio, a Unio e o Distrito Federal tinham
discricionariedade na opo, desde que dessem ao regime eleito a amplitude
estabelecida no texto constitucional.
A EC 19/98, contudo, ps fim a tal exigncia, permitindo a cada pessoa
poltica a escolha do regime que repute mais adequado para sua administrao direta,
autrquica e fundacional, podendo at mesmo optar por regimes distintos. Admite-se,
por exemplo, que os servidores da administrao direta do Distrito Federal estejam
regrados por um regime e a administrao autrquica e fundacional por outro, ou que
haja um regime para determinadas autarquias e um disciplinamento diverso para as
demais, entre outras variveis possveis. Enfim, privilegou-se a flexibilidade
administrativa em detrimento do princpio da isonomia.
A Unio, em obedincia ao comando constitucional contido na redao original
do art. 39, editou a Lei 8.112/90, a qual, nos termos de seu art. 1, institui o Regime
Jurdico dos Servidores Pblicos Civis da Unio, das autarquias, inclusive as em regime
especial, e das fundaes pblicas federais. A Lei o Estatuto dos servidores
pblicos federais, estabelendo para essa categoria de agentes um regime jurdico
distinto de qualquer outra categoria de agentes pblicos.
Esto fora de seu mbito de incidncia os empregados pblicos, regidos pela
Consolidao das Leis do Trabalho (CLT), quando integrantes do quadro funcional das
sociedades de economia mista e empresas pblicas; ou pela CLT e pela Lei
9.962/2000, quando atuarem na Administrao direta, autrquica ou fundacional
federal.
Tambm extrapolam de seu mbito os agentes pblicos que tm direito
vitaliciedade (os magistrados, os ministros e conselheiros dos tribunais de contas e
os membros do Ministrio Pblico) e os titulares de cargos eletivos do Poder Executivo
e do Poder Legislativo. Tais agentes, pela posio institucional que ocupam, a
importncia e as peculiaridades de suas funes, so regidos por estatutos prprios,
de que exemplo a Lei Orgnica da Magistratura Nacional.
Aps esta exposio casustica, podemos determinar com maior preciso a quem
se aplica afinal a Lei 8.112/90: na sua integralidade, aos agentes pblicos, com direito
estabilidade, nomeados em virtude de aprovao em concurso pbico para cargos de
provimento efetivo na Administrao Pblica direta, autrquica ou fundacional federal;
de forma parcial, aos servidores ocupantes de cargos em comisso declarados em lei
de livre nomeao e exonerao (parcial porque diversos dispositivos da Lei 8.112/90,
como os que disciplinam as licenas e afastamentos, tm como destinatrios nicos os
servidores ocupantes de cargos efetivos).
Por fim, deve-se notar que a EC 19/98 no significou a revogao da Lei 8.112/90.
Seu advento apenas permitiu que no seio da Administrao direta, autrquica e
fundacional da Unio (bem como das demais esferas de Governo) coexistam agentes
administrativos sujeitos a regime jurdico de natureza diversa, estatutria ou
contratual. Os primeiros, regidos pela Lei 8.112/90; os ltimos, pela Lei 9.962/2000 e
pela Consolidao das Leis do Trabalho.
3.4. O REGIME DE EMPREGO PBLICO NA ADMINISTRAO FEDERAL
DIRETA, AUTRQUICA E FUNDACIONAL
Com a extino da obrigatoriedade de adoo do Regime Jurdico nico pela EC
19/98, A Unio editou a Lei 9.962/2000, que regula a contratao de pessoal por
prazo indeterminado na Administrao direta, autrquica e fundacional pelo
regime de emprego pblico. Em sntese, conforme dispe o art. 1 da lei, aplicar-
se-o as normas da Consolidao da Lei do Trabalho (CLT), ressalvados os assuntos
nela regulados de forma distinta ou em complemento CLT.
A Lei incide apenas no mbito da Administrao federal, de sorte que, se os
Estados, os Municpios ou o Distrito Federal tiverem interesse em admitir pessoal sob
regime de emprego pblico, tero que editar suas respectivas leis. Mediante tais
diplomas, todavia, nada mais podero fazer do que determinar que aos seus
empregados pblicos ser aplicada a Consolidao das Leis do Trabalho, em sua
integralidade. No podero tais diplomas legais inovar na ordem jurdica, ao contrrio
do que o fez a lei federal, pois a competncia para legislar sobre Direito do Trabalho
atribuda com exclusividade Unio, de acordo com o inc. I do art. 22 da CF.
A Lei 9.962/2000 inicia, no art. 1, caput, determinando com preciso seu
mbito de aplicabilidade: Administrao federal direta, autrquica e fundacional,
excludas, portanto, as sociedades de economia mista e as empresas pblicas, s quais
se aplica a CLT em sua integralidade. Esto tambm excludos de seu mbito os
cargos em comisso, como dispe o art. 1, 2, I, b.
H aqui um ponto que deve ser objeto de especial ateno: como comentamos
anteriormente, a partir da alterao promovida pela EC 19/98 ao inc. XIX do art. 37 da
CF, predomina doutrinria e jurisprudencialmente o entendimento de que atualmente
h duas espcies de fundaes pblicas em nosso ordenamento: as de direito pblico e
as de direito privado, as primeiras criadas diretamente por lei especfica e regradas
predominantemente pelo regime de emprego pblico; as segundas criadas por meio do
registro de seus atos constitutivos aps autorizao em lei especfica, sujeitas
preponderantemente a regime de direito privado. Relembramos essa diferenciao
para esclarecermos que, a nosso ver, mesmo as fundaes pblicas de direito
privado, quando admitirem empregados pblicos, o faro com base na Lei
9.962/2000 e no apenas na CLT, pois o art. 1 daquela lei refere-se genericamente
a fundaes pblicas.
Continuando a sua anlise, a Lei autoriza, mediante a edio de leis especficas,
no s a criao de empregos pblicos, como seria lgico, mas tambm a
transformao de cargos pblicos em empregos. Assim, permite que um cargo de
professor, por exemplo, seja alterado para um emprego de professor. Tal
transformao, contudo, no poder efetivar-se enquanto provido o cargo, ou
seja, enquanto o mesmo for titularizado pelo mesmo servidor. Isso em funo do
disposto no art. 1, 2, II, que protege os titulares de cargos pblicos data de
edio das respectivas leis transformadoras de serem alcanados por seus preceitos.
Utilizando-nos do exemplo acima, o cargo de professor s poder ser transformado em
emprego de professor aps sua vacncia.
Os atuais servidores estatutrios federais, portanto, no esto e no
podero estar sujeitos disciplina da Lei, permanecendo sob o regime posto
na Lei 8.112/90.
O art. 2 da lei tem carter meramente explicitativo ao exigir concurso pblico
como requisito para contratao de pessoal sob regime de emprego pblico, pois a
obrigatoriedade do concurso nesse caso decorre diretamente do mandamento contido
no art. 37, II, da CF.
O art. 3 estabelece as hipteses de resciso unilateral pela Administrao do
contrato de trabalho por prazo indeterminado. Trancrevemos a seguir o artigo:
Art. 3: O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente
poder ser rescindido por ato unilateral da Administrao Pblica nas
seguintes hipteses:
I prtica de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da
Consolidao das Leis do Trabalho CLT;
II acumulao ilegal de cargos, empregos ou funes pblicas;
III necessidade de reduo de quadro de pessoal, por excesso de
despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da
Constituio Federal;
IV insuficincia de desempenho, apurada em procedimento no qual se
assegurem pelo menos um recurso hierrquico dotado de efeito
suspensivo, que ser apreciado em trinta dias, e o prvio conhecimento
dos padres mnimos exigidos para a continuidade da relao de
emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as
peculiariedades das atividades exercidas.
Pargrafo nico. Excluem-se da obrigatoriedade dos procedimentos
previstos no caput as contrataes de pessoal decorrentes da autonomia
de gesto de que trata o 8 do art. 37 da Constituio Federal.
O art. 482 da CLT a que se refere o inc. I do art. 3 tem o seguinte teor:
Art. 482. Constituem justa causa para resciso do contrato de trabalho
pelo empregador:
a) o ato de improbidade;
b) incontinncia de conduta ou mau procedimento;
c) negociao habitual por conta prpria ou alheia sem permisso do
empregador, e quando constituir ato de concorrncia empresa para a
qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao servio;
d) condenao criminal do empregado, passada em julgado, caso no
tenha havido suspenso da execuo da pena;
e) desdia no desempenho das respectivas funes;
f) embriaguez habitual ou em servio;
g) violao de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinao;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no servio contra
qualquer pessoa, ou ofensas fsicas, nas mesmas condies, salvo em
caso de legtima defesa, prpria ou de outrem;
l) prtica constante de jogos de azar.
Pargrafo nico. Constitui igualmente justa causa para dispensa de
empregado a prtica, devidamente comprovada em inqurito
administrativo, de atos atentatrios segurana nacional.
Como se observa, o art. 3 trata das hipteses de resciso unilateral do
contrato de trabalho pela Administrao, vedando a dispensa imotivada, ou seja,
aquela sem justa causa. Uma exceo a essa regra consta no pargrafo nico, que
permite aos rgos e entidades que houverem celebrado contrato de gesto a
dispensa imotivada de seus empregados. Nesse caso, todavia, devero ser pagas ao
empregado todas as verbas indenizatrias previstas na CLT, inclusive a multa de 40%
do montante dos depsitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Servio
(FGTS).
No esto previstas na Lei 9.962/2000 as hipteses que autorizam ao empregado
pblico rescindir unilateralmente seu contrato de trabalho. Deve-se no caso aplicar o
art. 483 da CLT. Na lei tambm no se encontra a disciplina aplicvel quando se d o
desfazimento bilateral do contrato de trabalho, devendo-se, da mesma forma,
observar-se as regras a respeito previstas na CLT.
3.5. DIREITOS E GARANTIAS DOS TRABALHADORES EM GERAL APLICVEIS
AOS SERVIDORES PBLICOS
A primeira parte do 3 do art. 39 da CF estende aos servidores pblicos
ocupantes de cargos efetivos diversos dos direitos previstos para os trabalhadores em
geral, elencados no art. 7 da Constituio.
Os direitos previstos nesse dispositivo tambm assegurados aos servidores
ocupantes de cargos efetivos so os seguintes:
1) salrio mnimo nacionalmente unificado;
2) garantia do salrio, nunca inferior ao mnimo, para os que percebm remunerao
varivel;
3) dcimo terceiro salrio;
4) remunerao do trabalho noturno superior do diurno;
5) salrio-famlia;
6) durao do trabalho normal no superior a oito horas dirias e quarenta e quatro
semanais;
7) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
8) remunerao do servio extraordinrio superior, no mnimo, em cinquenta por cento
do servio ordinrio;
9) frias anuais com a remunerao acrescida em pelo menos um tero da
remunerao normal;
10) licena gestante com a durao de cento e vinte dias
11) licena-paternidade;
12) proteo do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos especficos, nos
termos da lei;
13) reduo dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de sade, higiene e
segurana;
14) proibio de diferena de salrios, de exerccio de funes e de critrio de
admisso por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
O 3 do art. 39 foi mais um dos dispositivos constitucionais que sofreu
alterao por fora da Emenda n 19/98. Com relao a tais alteraes, podemos dizer
que as principais foram:
1) a eliminao da remisso ao inc. VI do art 7 da CF, que estatui o direito
irredutibilidade do salrio, uma vez que para os servidores h norma especfica a
respeito, no art. 37, XV, o que torna dispensvel a remisso;
2) a permisso, no final do 3, para que a lei estabelea requisitos diferenciados de
admisso ao servio pblico quando a natureza do cargo o exigir. Como o dispositivo
fala apenas de cargos pblicos, ele no autoriza, em nosso entender, a previso de
critrios diferenciados para a admisso em empregos pblicos.
O direito garantia do salrio mnimo merece um comentrio adicional, retirado
da obra dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, que apresentam a
posio do STF a respeito da matria. Dizem os autores que a posio da Corte de
que a referida garantia incide sobre os vencimentos (ou remunerao) do servidor,
ou seja, sobre o vencimento bsico do cargo acrescido das demais vantagens
pecunirias pagas a ttulo permanente. Dessa forma, mesmo se o vencimento bsico
do cargo ficar aqum do salrio mnimo, o art. 7, IV, da CF estar respeitado se o
total percebido pelo servidor seus vencimentos - ultrapass-lo.
3.6. REMUNERAO POR SUBSDIO
O subsdio modalidade remuneratria acrescida ao texto constitucional pela
Reforma Administrativa. Aplicvel obrigatoriamente apenas aos agentes polticos e a
algumas carreiras do servio pblico, apresenta como diferencial com relao s
demais espcies de estipndio (salrios e vencimentos) dos agentes pblicos o fato de
ser fixado em parcela nica, vedado o acrscimo de qualquer outra vantagem
pecuniria de natureza remuneratria.
A matria regulada pelo art. 37, 4, que apresenta a seguinte redao:
4 O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretrios Estaduais e Municipais sero
remunerados exclusivamente por subsdio fixado em parcela
nica, vedado o acrscimo de qualquer gratificao, adicional,
abono, prmio, verba de representao ou outra espcie
remuneratria, obedecido em qualquer caso o disposto no art. 37,
X e XI
Tambm se sujeitam ao regime de subsdio os membros das carreiras da
Advocacia-Geral da Unio, da Defensoria Pblica, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, da Polcia Federal, da
Polcia Rodoviria Federal, da Polcia Ferroviria Federal, das Polcias Civis, das Polcias
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Facultativamente, autoriza a
Constituio a aplicao desse regime a outros servidores organizados em carreira.
A inteno do legislador ao inserir em nosso ordenamento constitucional a
figura do subsdio foi possibilitar um controle mais efetivo sobre os valores percebidos
pelos agentes polticos e por algumas das mais expressivas carreiras do servio
pblico, mediante a fixao dos respectivos estipndios em parcela nica, afastando-se
as demais vantagens pecunirias.
Na lio do Professor Jos dos Santos Carvalho Filho, tais vantagens
correspondem s parcelas pecunirias acrescidas ao vencimento-base em decorrncia
de uma situao ftica previamente estabelecida na norma jurdica pertinente. Toda
vantagem pecuniria reclama a consumao de certo fato, que proporciona o direito
sua percepo. Presente a situao ftica prevista na norma, fica assegurado ao
servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente vantagem. Esses fatos
podem ser das mais diversas ordens: desempenho das funes por certo tempo;
natureza especial da funo; grau de escolaridade; funes exercidas em gabinetes de
chefia; trabalho em condies normais de dificuldade etc.
Todas essas vantagens acrescidas ao vencimento-base no tm, a princpio,
aplicao no regime de subsdio. O agente poltico e o servidor pblico dessa forma
remunerados tero direito percepo de um valor nico pelo desempenho de suas
atribuies, sejam quais forem as condies em que as mesmas se desenvolvam. Um
deputado federal que receba por subsdio, por exemplo, no ter direito qualquer
gratificao adicional pelo exerccio da presidncia de comisso legislativas; da mesma
forma, um magistrado designado para a direo do foro no far jus a qualquer
gratificao complementar ao seu subsdio pela acumulao de suas funes
jurisdicionais com o desempenho das atribuies administrativas.
Esto excludas do subsdio as prestaes de natureza indenizatria pagas aos
agentes pblicos, tais como as ajudas de custo e as dirias, pois tais prestaes no
tm carter remuneratrio, constituindo apenas um ressarcimento ao agente por
despesas realizadas no exerccio do seu cargo ou funo.
Adverte a Professora Marya Sylvia di Pietro que mesmo algumas parcelas de
carter remuneratrio esto excludas do subsdio, em funo do disposto no art.
39, 3, da CF, que estende aos servidores ocupantes de cargo pblico diversos
direitos previstos no art. 7 para os trabalhadores em geral, dentre eles o dcimo
terceiro salrio, o adicional noturno, a remunerao do servio extraordinrio em valor
superior, no mnimo, a 50% do valor normal, o adicional de frias, entre outros.
Segundo a professora, deve-se conciliar a leitura do 3 e a do 4 do art. 39
da CF, entendendo-se que vedado o acrscimo de outras vantagens pecunirias ao
subsdio, ressalvadas aquelas excepcionadas no prprio texto constitucional.
A ressalva, todavia, ainda segundo a autora, no geral, mas restrita aos
servidores ocupantes de cargos efetivos, os nicos abrangidos pelo art. 39, 3,
estando dela excludos, por exemplo, os detentores de mandato eletivo, que so
agentes polticos, no se enquadrando no conceito de servidores pblicos.
Entendemos que o direito a algumas das vantagens pecunirias arroladas no
art. 7 da Constituio dificilmente poder ser negado aos agentes pblicos, qualquer
que seja sua categoria, a exemplo do adicional de frias e do dcimo terceiro salrio.
Ser necessrio aguardar a manifestao do STF a respeito para que se possa chegar a
um denominador comum quanto s verbas que podem ser somadas parcela nica do
subsdio, e se tal possibilidade efetivamente existe.
3.7. ESTABILIDADE
Estabilidade o direito de permanncia no servio pblico conferido ao
servidor nomeado mediante concurso pblico para cargo de provimento efetivo,
aps trs anos de efetivo exerccio no mesmo, se aprovado no estgido
probatrio e na avaliao especial de desempenho. O instituto tem aplicao
restrita aos titulares de cargos pblicos, submetidos a regime estatutrio, no sendo
aplicvel aos empregados pblicos, sujeitos ao regime celetista, e nem aos titulares de
cargos em comisso.
A estabilidade no se refere ao cargo especfico para o qual foi nomeado o
servidor, mas ao servio pblico como um todo. Dessa forma, tecnicamente
inadequado dizer-se que o servidor adquire estabilidade em determinado cargo, pois
na verdade ele torna-se estvel no servio pblico, pelo fato de ter efetivamente
exercido por trs anos certo cargo de provimento efetivo e ter sido aprovado em
estgio probatrio e na avaliao especial de desempenho. Assim, extinto o cargo
ocupado pelo servidor, sua estabilidade no prejudicada, continuando a assegurar-
lhe o direito permanncia no servio pblico, em cargo de atribuies e vencimentos
compatveis com o anteriormente ocupado.
O instituto foi obra de significativas alteraes pela EC 19/98. Antes da
emenda, o servidor, aps a aprovao no estgio probatrio e o desempenho de suas
funes por dois anos, tornava-se estvel, no podendo mais ser exonerado do
servio pblico. Relembrando, exonerao a dispensa do servidor sem carter
punitivo, por ter sido considerado inapto para o exerccio do cargo no perodo de
estgio probatrio.
Uma vez ultrapassado o perodo de estgio probatrio, o servidor somente
poderia perder seu cargo se sofresse demisso, a qual, como sabemos, a dispensa
do servidor com carter punitivo. A demisso poderia ocorrer em duas hipteses:
sentena judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que fosse
assegurado o direito de ampla defesa.
Aps a entrada em vigor da EC 19/98 esse panorama foi alterado. Alm de
aumentar de dois para trs anos o tempo de efetivo exerccio do cargo, a emenda
criou mais um requisito para a aquisio da estabilidade, a avaliao especial de
desempenho do servidor feita por uma comisso especificamente constituda
para essa finalidade.
Alm disso, criou duas hipteses de exonerao do servidor estvel (antes
no havia nenhuma): (1) por insuficincia de desempenho detectada em avaliao
peridica, na forma de lei complementar e assegurada ampla defesa; (2) por excesso
de despesa com pessoal, nos termos do art. 169 da CF, 4.
O art. 41 da CF, que regula o assunto, passou a ter a seguinte redao:
Art. 41. So estveis aps trs anos de efetivo exerccio os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
pblico.
1 O servidor estvel s perder o cargo:
I em virtude de sentena judicial transitada em julgado;
II mediante processo administrativo em que lhe seja assegura ampla
defesa;
III mediante procedimento de avaliao peridica de desempenho, na
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
...
4 Como condio para a aquisio da estabilidade, obrigatria a
avaliao especial de desempenho por comisso instituda para essa
finalidade.
O art. 169, 4, da CF, por sua vez, prescreve:
4 Se as medidas adotadas com base no pargrafo anterior no forem
suficientes para assegurar o cumprimento da determinao da lei
complementar referida neste artigo, o servidor estvel poder perder o
cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes
especifique a atividade funcional, o rgo ou entidade administrativa
objeto de reduo de pessoal.
Vamos falar um pouco de cada uma das alteraes:
- aumento de dois para trs anos o prazo de efetivo exerccio no cargo para a
aquisio da estabilidade: tal prazo aplica-se apenas aos servidores que ingressaram
na administrao direta, autrquica ou fundacional aps a entrada em vigor da EC
19/98. Para os que ingressaram em momento anterior foi mantido o prazo de dois
anos;
- avaliao especial de desempenho como nova condio para a aquisio da
estabilidade: tal avaliao sepulta a possibilidade do servidor tornar-se estvel por
mero decurso de prazo. Antes da insero desta exigncia no texto constitucional
muitas administraes simplesmente no realizavam o estgio probatrio, ou faziam-
no de forma superficial. Na prtica, regra geral bastava ao servidor completar o prazo
de dois anos de exerccio do cargo para tornar-se estvel. Agora tal realidade
necessariamente se modificar, pois indispensvel a avaliao efetiva do servidor por
uma comisso constituda especificamente para tal finalidade;
- possibilidade de vir o servidor estvel a ser exonerado em virtude de avaliao
peridica de desempenho: no bastasse a avaliao especial durante o estgio
probatrio, o servidor est agora sujeito exonerao, mesmo encerrado o estgio
probatrio, se for considerado inapto em uma avaliao peridica. No h ainda tal
avaliao, pois no foi editada a lei complementar exigida pelo inc. III do 1 do art.
41. Essa lei estabelecer, entre outras disposies, a periodicidade com que a
avaliao ser feita (de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos), o que significa que um
servidor, mesmo em final de carreira e s portas da aposentadoria, poder a vir
exonerado se reprovado na avaliao (no se trata aqui de demisso, como acima foi
explicado);
- outra possibilidade de exonerao excesso de despesa com pessoal: A CF, no art.
169, delegou lei complementar a competncia para impor limites s despesas de
pessoal ativo e inativo da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios. Tal
lei j foi editada, e fixa em 60% da receita corrente lquida o limite para a Unio, e
em 50% o limite para Estados, Municpios e Distrito Federal. Os entes federados
tero um prazo para se adaptar ao limite, dentro do qual devero adotar algumas
medidas com essa finalidade. Por primeiro, devero reduzir em ao menos 20% suas
despesas com cargos em comisso e funes de confiana, bem como exonerar seus
servidores no estveis. Adotadas tais medidas e estando ainda as despesas de
pessoal superiores ao limite legal, podero os servidores estveis ser exonerados.
Observe-se que as duas primeiras medidas so obrigatrias, mas a exonerao dos
estveis facultativa.
Por fim, vamos diferenciar a estabilidade da vitaliciedade.
A vitaliciedade instituto similar estabilidade, pois constitui tambm uma
garantia, ainda que relativa, de permanncia no servio pblico. A Constituio Federal
o nico diploma normativo apto para instituir casos de vitaliciedade, sendo
inidnea para tal fim a legislao infraconstitucional. Nos termos de nossa Carta
Poltica, fazem jus vitaliciedade os magistrados em geral, os membros do
Ministrio Pblico e os ministros dos Tribunais de Contas.
As principais diferenas entre os dois institutos so as seguintes:
1) aps adquirir a vitaliciedade o agente pblico s poder perder o cargo aps o
trnsito em julgado de deciso judicial; at ento, poder ter descontitudo seu
vnculo funcional por deciso do rgo colegiado competente (h casos, como nos
Tribunais Superiores, em que o servidor vitalcio desde sua posse). A estabilidade
no impede que o servidor tenha extinta sua relao funcional pela via
administrativa, mediante processo administrativo disciplinar ou procedimento de
avaliaao peridica de desempenho;
2) a vitaliciedade assegura a permanncia no prprio cargo em ela foi adquirida;
enquanto que a estabilidade vnculo que liga o servidor ao servidor pblico, no ao
cargo que ocupa. Um magistrado (vitalcio), por exemplo, jamais poder ser
readaptado em outro cargo, no pertencente carreira da magistratura; j um
servidor estatutrio, como um fiscal de rendas poder ser readaptado em cargo
distinto, quando presentes as condies legais;
3) o servidor, para adquirir estabilidade, tem que ingressar na Administrao
obrigatoriamente mediante concurso pblico; j um agente pblico pode obter a
vitaliciedade sem nunca ter sido submetido a exame dessa natureza, como
ocorre no provimento dos cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
3.7. REINTEGRAO E RECONDUO
A Reintegrao vem prevista no art. 41, 2, da CF, e consiste no retorno do
servidor estvel que fora demitido ao cargo anteriormente ocupado ou naquele
resultante de sua transformao, em decorrncia da invalidao de sua demisso por
deciso administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
Assim, o servidor, estvel, tendo sido anulada administrativa ou
judicialmente sua demisso, tem assegurado o direito de ocupar novamente seu
cargo, bem como de receber todas as vantagens que no lhe foram pagas durante o
perodo de afastamento ilegal. Aqui se incluem os vencimentos, as gratificaes, os
adicionais, as promoes por antiguidade, enfim, qualquer valor que ele deveria ter
recebido em funo do exerccio de seu cargo se no houvesse sido dele ilegalmente
demitido.
No retorno do servidor ao seu cargo ou naquele resultante de sua
transformao, pode o mesmo encontrar-se vago, ter sido extinto ou estar provido.
No primeiro caso - vacncia -, o servidor simplesmente retorna ao exerccio regular de
suas atribuies; no segundo - extino do cargo -, fica o servidor em
disponibilidade, com proventos proporcionais ao seu tempo de servio; no
terceiro - cargo provido -, o servidor tambm retorna ao seu cargo, sendo seu
anterior ocupante, se estvel, reconduzido ao seu cargo de origem, sem qualquer
indenizao, aproveitado em outro ou posto em disponibilidade (se no for estvel
ser simplesmente exonerado).
A reintegrao direito apenas do servidor estvel que tenha sido
ilegalmente demitido. A partir disso, duas questes se impem: o servidor no-
estvel indevidamente demitido e o servidor, estvel ou no, irregularmente
exonerado, teriam o mesmo direito?
Acreditamos que a resposta positiva nas duas hipteses.
No h como se negar a possibilidade de em servidor no-estvel ser
demitido, exemplificativamente, com base numa imputao falsa de crime de
corrupo. Provada administrativa ou judicialmente a no-ocorrncia do fato ou a no-
autoria do servidor, no h dvidas quanto ao seu direito de retorno ao servio
pblico, com ressarcimento de todas suas vantagens. Apenas tal retorno, por falta de
previso legal, no ser denominado reintegrao.
O mesmo pode-se afirmar quanto ao servidor, estvel ou no, ilegamente
exonerado. O no-estvel, durante seu estgio probatrio, pode ser exonerado sob
uma falsa alegao de incompatibilidade com as atribuies do cargo. Comprovado que
tal fato na realidade no correspondia verdade, uma vez que o servidor cumpria a
contento as atribuies a que estava obrigado, tem ele o direito a retornar ao servio
pblico, mais uma vez com ressarcimento de todas as vantagens. Esse fenmeno
tambm no denominado reintegrao.
Por fim, o mesmo pode ocorrer com o servidor estvel, o qual, a partir da
Emenda Constitucional 19/98, pode ser exonerado mediante procedimento de
avaliao peridica de desempenho. Se verificado que no foi propiciado ao servidor
oportunidade de defesa, como determina a norma que rege a hiptese (CF, art. 41,
III), de se ter por nula sua exonerao com fundamente em desempenho
insuficiente. Nesse caso, de forma idntica aos anteriores, o servidor retorna ao
servio com ressarcimento de todas as suas vantagens, no sendo tal retorno
chamado de reintegrao, pois esta pressupe demisso ilegal, e a hiptese aqui
apreciada refere-se exonerao ilegal.
Isto posto, vamos reconduo.
Reconduo o instituto pelo qual se permite o retorno do servidor, quando
estvel, ao cargo anteriormente ocupado, em decorrncia (1) de sua inabilitao
em estgio probatrio para outro cargo ou (2) reintegrao do anterior ocupante.
A partir de uma compreenso adequada do instituto da estabilidade, pouco h a
ser acrescentado quanto reconduo do servidor em funo de inabilitao em
estgio probatrio para outro cargo, nica das hipteses de reconduo que ser nesse
momento analisada, uma vez que j tratamos da reintegrao nos pargrafos
antecedentes.
A disciplina simples: toda vez que o servidor entra no exerccio de
determinado cargo, mesmo se estvel, deve se submeter a um novo estgio
probatrio. Ocasionalmente, poder o servidor vir a ser considerado inapto nesse novo
estgio. Em ocorrendo isto, e em vista da sua estabilidade, tem ele o direito de ser
reconduzido ao seu antigo cargo, ou seja, de retornar ao exerccio das atribuies de
seu cargo anterior, voltando a receber a remunerao a ele correspondente.
4. REGIME DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES PBLICOS
O art. 40 da Constituio estabelece as linhas mestras do regime previdencirio
dos servidores titulares de cargos efetivos da Unio, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municpios, includas suas respectivas autarquias e fundaes.
Subsidiariamente, aplicam-se ao regime previdencirio prprio dos servidores as
disposies do regime geral da previdncia social.
As regras dispostas no art. 40 da Constituio sofreram profundas alteraes
em nossa histria constitucional recente, num primeiro momento por fora da EC n
20, de 1998, e mais recentemente em virtude da EC n 41, de 2003.
Quanto ao teor dessas reformas, ensinam Vicente paulo e Marcelo Alexandrino:
Tanto a reforma de 1998 como a de 2003 propuseram-se, em linhas gerais,
assegurar um relativo equilbrio financeiro ao sistema. Em 1998 foram estabelecidos
limites mnimos de idade para a concesso de aposentadoria, passou-se a exigir um
tempo mnimo de efetivo servio no cargo e no servio pblico para obteno da
aposentadoria, o texto constitucional passou a falar, expressamente, em carter
contributivo, com base atuarial, para o sistema etc.
A segunda reforma teve como principais pontos: fim da aposentadoria com
proventos integrais para os servidores que ingressarem no servio pblico
aps a publicao da Emenda Constitucional n 41/2003; estabelecimento de
um redutor para as penses acima de determinado valor; instituio da
cobrana de contribuio previdenciria dos inativos e pensionistas que
recebam proventos acima de certo valor; previso de regime de previdncia
complementar com planos de benefcios na modalidade contribuio definida;
instituio de regras de transio para os servidores ingressados no servio pblico at
a data de publicao da Emenda Constitucional n 41/2003; garantia dos direitos
adquiridos dos j aposentados e pensionistas bem como daqueles que, at a data de
publicao da emenda, tenham cumprido todos os requisitos para a obteno da
aposentadoria ou penso, com base nos critrios da legislao ento vigente (sem
grifos no original).
Apresentaremos a seguir, em breve sntese, as regras aplicveis ao regime
previdencirio prprio dos servidores estatutrios (RPPS), j levando em
considerao as alteraes nele promovidas pelas duas sobreditas reformas.
O regime tem carter contributivo e solidrio. O carter contributivo indica
que o sistema no se baseia no tempo de servio do servidor, mas nas efetivas
contribuies por ele recolhidas aos cofres pblicos. indispensvel o real
recolhimento da contribuio previdenciria, sendo vedado ao legislador estabelecer
qualquer forma de contagem de tempo de contribuio fictcio.
Nos termos do caput do art. 40, contribuem para o sistema no apenas os
servidores ativos, mas tambm os inativos, os pensionistas e o prprio ente
pblico ao qual eles esto vinculados. As contribuies devem observar critrios que
preservem o equilbrio financeiro e atuarial do sistema, de forma a serem suficientes
para a sua manuteno, sem necessidade de aporte de recursos financeiros adicionais,
provenientes de outras fontes, de natureza no-previdenciria.
O art. 40, 20, acrescentado ao texto constitucional pela EC 41/2003, veda a
instituio de mais de um regime prprio de previdncia social para os
servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do
respectivo regime em cada ente estatal. A regra no se aplica ao regime
previdencirio dos militares, autnomo do regime dos servidores civis, e que deve ser
regulado em lei prpria (CF, art. 142, 3, X).
O art. 40, 6, no alterado pela EC 41/2003, veda a percepo de mais de
uma aposentadoria pelo regime previdencirio prprio dos servidores, ressalvadas
aquelas que decorram de acumulao lcita de cargos, nos termos da Constituio.
Probe-se tambm, no art. 40, 4, o estabelecimento de requisitos e critrios
diferenciados para a concesso de aposentadoria aos servidores sujeitos ao regime
prprio, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condies
especiais que prejudiquem a sade ou a integridade fsica, definidos em lei
complementar.
O art. 40, 3 foi objeto de uma das mais importantes alteraes promovidas
pela EC 41/2003. Reza o dispositivo, em sua redao atual, que os proventos de
aposentadoria sero calculados a partir das remuneraes utilizadas como base
para as contribuies do servidor ao regime prprio e, quando for o caso, ao
regime geral de previdncia. A Constituio no estabeleceu a forma de clculo dos
proventos, delegando tal tarefa legislao infraconstitucional.
Esta regra, na sua simplicidade, estabelece o fim da aposentadoria com
proventos integrais. At a EC 41 os proventos, em determinadas hipteses,
correspondiam ao valor da ltima remunerao do servidor. Atualmente, seu valor ser
determinado por meio de uma mdia das remuneraes que serviram de base para as
contribuies feitas pelo servidor durante sua vida profissional, as quais, quando da
concesso do benefcio, devem ter seu valor devidamente atualizado, nos termos da
lei.
Tambm foi retirada do texto constitucional a regra que garantia a paridade
entre proventos e remunerao. O art. 40, 8, em sua nova redao, s assegura
o reajustamento dos benefcios para preservar-lhes o seu valor real, conforme critrios
a serem definidos em lei.
O valor dos proventos da penso por morte corresponder:
a) ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, at o limite mximo
estabelecido para os benefcios do regime geral de previdncia social (atualmente R$
2.400,00), acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso o
servidor seja aposentado por ocasio do seu bito (art. 40, 7, I);
b) ao valor da totalidade da remunerao do servidor no cargo efetivo em que se deu o
falecimento, at o limite mximo estabelecido para os benefcios do regime geral de
previdncia social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite,
caso o servidor estivesse em atividade na data do bito (art. 40, 7, II).
De qualquer forma, os proventos da inatividade no podem ultrapassar o teto
remuneratrio dos servidores, previsto no art. 37, XI, mesmo nos casos de
acumulao autorizados pela Constituio.
Sobre o regime de previdncia complementar, disposto nos 14, 15 e 16 do
art. 40, diz o Professor Vicente Paulo:
O 14 do art. 40 da Constituio foi acrescentado pela EC n 20/1998 e no
foi modificado pela EC n 41/2003. Prev esse dispositivo a possibilidade de o ente
poltico fixar, para o valor das aposentadorias e penses dos respectivos servidores
pblicos sujeitos ao regime prprio, o limite mximo estabelecido para os benefcios do
regime geral de previdncia social (atualmente R$ 2.400,00). Para isso, o ente poltico
ter que, obrigatoriamente, instituir regime de previdncia complementar para os
seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo.
O 15 complementa essa regra, ao estabelecer que o regime de previdncia
complementar aludido ser institudo por lei de iniciativa do respectivo Poder
Executivo. A instituio do regime de previdncia complementar, portanto, consoante a
redao dada ao texto constitucional, de instituio obrigatria para a pessoa poltica
que pretenda estabelecer como teto dos proventos por ela pagos o limite de benefcios
do RGPS, e ser feita por meio de lei ordinria de iniciativa do Presidente da
Repblica, do Governador de Estado ou do DF, ou do Prefeito, conforme o caso.
O regime de previdncia complementar dos servidores ocupantes de cargos
efetivos ficar a cargo de entidades fechadas de previdncia complementar, de
natureza pblica, que oferecero aos respectivos participantes planos de benefcios
somente na modalidade de contribuio definida.
Embora a criao do regime de previdncia complementar se d por lei
ordinria do respectivo ente poltico, tal lei dever observar, no que couber, o disposto
no art. 202, e seus pargrafos, da Carta da Repblica. O artigo 202 da Constituio
trata do regime de previdncia privada, de carter complementar, que deve ser
regulado por lei complementar (atualmente a matria est disciplinada na Lei
Complementar n 109, de 29 de maio de 2001).
O 16 do art. 40, introduzido pela EC n 20/1998, e no alterado na segunda
reforma, garante que o servidor que tenha ingressado no servio pblico at a data da
publicao do ato de instituio do correspondente regime de previdncia
complementar somente a ele estar sujeito se prvia e expressamente formalizar
opo nesse sentido.
Outra alterao significativa promovida pela EC 41/2003 foi a instituio de
contribuio previdenciria dos aposentados e pensionistas, com relao
parcela dos proventos que superar o teto dos benefcios do regime geral de
previdncia (atuamente fixado em R$ 2.400,00). A alquota igual estabelecida
para os servidores em atividade, 11%. Os Estados, o Distrito Federal e os Municpios,
com relao aos seus respectivos regimes prprios de previdncia, no podero
estabelecer alquotas inferiores s da Unio.
De acordo com o art. 4 da EC 41/2003, tambm incide contribuio sobre os
aposentados e pensionistas data da publicao da Emenda, bem como sobre
aqueles que quela data j tinham direito adquirido concesso do benefcio. A
alquota a mesma, 11%, mas a base de clculo diversa da anteriormente
descrita, incidindo a contribuio sobre a parcela dos proventos e penses que
ultrapasse:
a) 50% do teto do RGPS no caso dos inativos e pensionistas dos estados, do Distrito
Federal e dos municpios (no caso, R$ 1.200,00);
b) 60% por cento teto do RGPS no caso dos inativos e pensionistas da Unio (no caso,
R$ 1.440,00).
O 19 do art. 40 instituiu um benefcio denominado abono de permanncia.
uma espcie de prmio, consistente na dispensa da obrigao do recolhimento da
contribuio, ao servidor que, tendo completado os requisitos para requerer a
aposentadoria voluntria no proporcional (CF, art. 40, 1, III, a), permanecer na
ativa. O servidor nessa situao poder gozar do abono at os setenta anos de idade,
quando ento incide a aposentadoria compulsria. O benefcio tambm concedido
aos servidores que ingressaram no servio pblico antes da EC n 20/1998 e, podendo
requerer sua aposentadoria voluntria segundo as regras de transio dispostas no art.
2 da EC n 41/2003, deixem de faz-lo (art. 2, 5, da EC n 41/2003), bem como
aos servidores com direito adquirido aposentadoria na data da publicao da EC n
41/2003 que permaneam em atividade (art. 3, 1, da EC n 41/2003).
As hipteses de concesso de aposentadoria pelo regime prprio dos servidores,
bem como seus respectivos requisitos, disciplinados no art. 40, 1, no foram
alterados pela EC n 41/2003, exceo do dispositivo que trata da aposentadoria por
invalidez permanente, que teve uma alterao de pouca monta na sua redao.
O dispositivo em questo vazado nos seguintes termos:
1 Os servidores abrangidos pelo regime de previdncia de que trata
este artigo sero aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos 3 e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao
tempo de contribuio, exceto se decorrente de acidente em servio,
molstia profissional ou doena grave, contagiosa ou incurvel, na forma
da lei;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuio;
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mnimo de dez anos
de efetivo exerccio no servio pblico e cinco anos no cargo efetivo em
que se dar a aposentadoria, observadas as seguintes condies:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuio, se homem, e
cinqenta e cinco anos de idade e trinta de contribuio, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade,
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuio.
O Professor Vicente Paulo, com relao regra trazida no art. 40, 1, III, b,
dispe o seguinte:
Nessa ltima hiptese, aps calcular os proventos a partir das remuneraes
utilizadas como base para as contribuies do servidor aos regimes de previdncia
peculiar e geral, devidamente atualizadas, aplica-se, sobre o valor encontrado, o
percentual correspondente razo entre o nmero de anos de contribuio do servidor
e o nmero de anos de contribuio que seriam necessrios para que ele se
aposentasse nos termos do item 3.1 com base na alnea a do inciso III do 1
desse art. 40 (35 anos de contribuio para os homens e 30 anos de contribuio para
as mulheres). Dessa forma, se o servidor homem, aos 65 anos de idade, houver
contribudo durante 31 anos e seis meses, seus proventos correspondero a 90% do
que seriam os proventos se ele houvesse se aposentado pelo inciso III, alnea a, do
1 do art. 40 da Constituio, ou seja, com 35 anos de contribuio (31 anos e seis
meses so 90% de 35 anos).
Para o professor ou a professora que tenham exclusivamente tempo de efetivo
exerccio das funes de magistrio na educao infantil e no ensino fundamental e
mdio, o tempo de contribuio e o limite de idade so reduzidos em 5 anos para a
concesso de aposentadoria voluntria concedida com base na alnea a do inciso III
do 1 do art. 40 da Constituio da Repblica (CF, art. 40, 5).
Por ltimo, cabe mencionar que a EC 41/2003 fixou regras diferenciadas de
transio para quem j se encontrava no servio pblico, variando a regra conforme a
data de ingresso ou a situao jurdica do servidor.
Para aqueles que preenchiam todos os requisitos para a concesso de
aposentadoria ou penso na data da publicao da EC 41/2003 foram garantidos, pelo
art. 3 dessa emenda, todos os direitos previstos na Constituio poca da aquisio
do direito, dentre os quais vale-se frisar a aposentadoria com proventos integrais
(quando for o caso) e a paridade dos proventos com a remunerao dos servidores
em atividade, quanto atualizao e outras alteraes na remunerao.
relevante ressaltar que a paridade plena aplica-se, aps a EC 41, apenas aos que j
eram aposentados e pensionistas na data sua publicao, bem como queles com
direito adquirido aposentadoria ou penso na mesma data.
Esta plenitude do direito paridade deve, todavia, ser vista com ressalvas. O
STF tem restringido significativamente o alcance deste direito, considerando que ele
assegura apenas a extenso das vantagens de carter geral concedidas aos servidores
na ativa, entre elas no se incluindo as vantagens recionadas ao efetivo desempenho
das funes do cargo.
Uma manifestao desse posicionamento da Corte encontra-se na Smula 680,
redigida nos seguintes termos:
680 - O direito ao auxlio-alimentao no se estende aos servidores
inativos.
Aos servidores que ingressaram no servio pblico at a data da publicao da
EC 41/2003, mas quela data ainda no tm direito aposentadoria, de acordo
com seu art. 6 foram assegurados os proventos integrais, desde que preenchidos
os seguintes requisitos: sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuio, se
homem, cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuio, se mulher, e para
todos vinte anos de efetivo exerccio no servio pblico, dez anos de carreira e cinco
anos de efetivo exerccio no cargo em que se der a aposentadoria. No lhes foi
garantida, todavia, a paridade, com a abrangncia que esta foi concedida aos
servidores que j possuam direito adquirido na data da publicao da emenda. Foi
somente assegurada reviso na mesma proporo e na mesma data, sempre que se
modificar a remunerao dos servidores em atividade, na forma da lei. No h
qualquer referncia extenso de benefcios ou vantagens criados
posteriormente.
A EC n 41/2003 estabeleceu, ainda, uma regra especfica para os servidores
que ingressaram no servio pblico antes da promulgao da EC 20/1998 e
pretendam aposentar-se antes da idade de sessenta anos, para os homens, e
cinqenta e cinco, para as mulheres. Todavia, no tero direito, neste caso, nem
aposentadoria com proventos integrais, nem paridade plena. Podero
tambm estes servidores optar por se aposentarem com base nas regras do art. 6 da
Emenda, acima comentado, e neste caso tero, cumpridos os requisitos, direito
aposentadoria com proventos integrais; mas no, mais uma vez, paridade plena.
5. DISPOSIES LEGAIS RELATIVAS AOS SERVIDORES PBLICOS CIVIS
FEDERAIS (ESTATUTRIOS)
5.1. INTRODUO
No restante desta unidade trabalharemos os conceitos necessrios para a anlise
da Lei 8.112/90 (RJU), que estabelece o regime jurdico dos servidores pblicos da
Administrao direta, autrquica e fundacional federal.
5.2. ALGUNS CONCEITOS INICIAIS
Os cargos pblicos podem ser de provimento efetivo, que exigem prvia
aprovao em concurso pblico, ou de provimento em comisso, declarados em lei
de livre nomeao e exonerao.
Podem ainda ser de carreira ou isolados. Cargos em carreira so aqueles
escalonados em diversas classes, cada uma delas caracterizada por um determinado
nvel de complexidade de atribuies e respectivos vencimentos. O servidor, ao
progredir funcionalmente, passa de uma classe outra, superior em termos de
complexidade de funes e de nvel de remunerao, dentro da mesma carreira.
Isolados, a contrario sensu, so os cargos no subdividos em classes.
J as funes pblicas podem ser autnomas, que so funes destinadas a
atender necessidades transitrias, e que no so tratadas na Lei 8.112/90. Podem
tambm ter carter permanente, como as funes de confiana referidas no RJU. O
cargo constitui um conjunto de atribuies, de forma que est inelutavelmente
vinculado a determinada funo. possvel haver funes sem um cargo
correspondente, mas nunca o inverso.
Quadro, por sua vez, o conjunto de funes e de cargos isolados ou de
carreira que integram determinado rgo ou entidade da Administrao pblica. O
servidor, na Administrao, ocupa determinado cargo, de carreira ou isolado, ou
exerce determinada funo, os quais, reunidos, compem o quadro de certo rgo ou
entidade.
5.3. PROVIMENTO
Provimento consiste no ato administrativo pelo qual se d o preenchimento de
determinado cargo pblico, mediante a designao de seu titular.
Segundo o RJU, so formas de provimento dos cargos pblicos: nomeao,
readaptao, reintegrao, aproveitamento, promoo, reverso e reconduo.
5.3.1. PROVIMENTO ORIGINRIO E PROVIMENTO DERIVADO
As formas de provimento de cargos pblicos so usualmente classificadas em
formas de provimento originrias e formas de provimento derivadas.
O provimento originrio ocorre quando a ocupao do cargo no decorre de
qualquer vnculo anterior entre o servidor e a administrao. Pela nova disciplina
constitucional, a nica forma de provimento originrio atualmente admitida a
nomeao, a qual exige, ressalvados os cargos em comisso, a realizao de
concurso pblico. O provimento de um cargo por servidor que ingressa no servio
pblico pela primeira vez, ou por aquele que, apesar de j ser servidor, aprovado
mediante concurso para outro cargo, so exemplos de provimento originrio dos
cargos pblicos.
Sobre o assunto, o STF editou a Sumula 685, abaixo transcrita:
685 - inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao
servidor investir-se, sem prvia aprovao em concurso pblico destinado ao
seu provimento, em cargo que no integra a carreira na qual anteriormente
investido.
Comentando o teor da smula, dizem Vicente paulo e Marcelo Alexandrino:
A nosso ver, a interpretao dessa smula no pode deixar de levar em conta que
h formas de provimento, como o aproveitamento, que propiciam ao servidor investir-
se, sem novo concurso, em cargo diferente daquele para o qual ele foi originalmente
nomeado em virtude de concurso pblico (observe-se que a Constituio, no 3 do
art. 41, refere-se a aproveitamento em outro cargo). Outras formas de provimento,
entretanto, como, na esfera federal, a readaptao, no esto mencionadas no texto
constitucional, mas to-somente na lei. Pensamos que a tendncia do STF considerar
essas ltimas formas de provimento derivado inconstitucionais. Deve-se notar, porm,
que elas permanecem integrando nosso ordenamento jurdico enquanto os dispositivos
legais que as mencionam no forem revogados, ou que haja sentena judicial com
eficcia erga omnes afastando sua aplicao.
De outra parte, a smula em comento no diz respeito a todas as formas de
provimento derivado. Com efeito, algumas delas no implicam investir-se o servidor
em cargo diferente do seu cargo original, para o qual ele foi nomeado mediante
concurso pblico, porquanto acarretam retorno ao mesmo cargo do qual ele se havia
desligado por algum motivo ( o caso da reintegrao, da reverso, da reconduo).
Em sntese, entendemos que as formas de provimento derivado textualmente
mencionadas na Constituio, bem como aquelas que, mesmo sem base constitucional
expressa, no impliquem ingresso do servidor em cargo diverso daquele para o qual
ele foi originalmente nomeado em virtude de concurso pblico, so plenamente
constitucionais. Diversamente, as formas de provimento derivado no referidas na
Constituio, que resultem em investidura do servidor em cargo para o qual ele no foi
aprovado em concurso pblico, so, para o Pretrio Excelso, inconstitucionais (repise-
se, todavia, que elas permanecem integrando nosso ordenamento jurdico enquanto os
dispositivos legais que as mencionam no forem revogados, ou que haja sentena
judicial com eficcia erga omnes afastando sua aplicao).
5.4. POSSE
A posse o ato pelo qual se d a investidura do servidor no cargo, com a
atribuiao dos direitos, deveres, reponsabilidades e prerrogativas inerentes ao seu
exerccio, constituindo a mesma, como observa o Professor Jos Carlos dos Santos
Filho, uma condio indispensvel para o regular desempenho da funo pblica. no
momento da posse que o servidor assume o compromisso de bem desempenhar suas
atribuies, completando-se assim a relao estatutria entre ele e a Administrao.
Como prescreve o 4 do art. 14 do RJU, a posse s ocorre no caso de
provimento de cargo por nomeao. Apesar de interrelacionados os dois institutos,
devemos diferenci-los. A nomeao ato unilateral da Administrao, pelo qual ela
d provimento a determinado cargo pblico, designando seu titular; j a posse ato
bilateral mediante o qual o antes apenas nomeado torna-se servidor, acatando todos
os deveres e responsabilidades inerentes ao cargo e adquirindo todos os correlatos
direitos.
Como acima referido, antes da posse no h tecnicamente ainda a figura do
servidor, uma vez que ainda no se completou o vnculo do nomeado com a
Administrao, a qual, nesse momento, ele ainda no integra. por meio da posse
que se d o aperfeioamento de tal vnculo, adquirindo o nomeado a condio de
servidor pblico.
O ato de provimento no produz para o nomeado qualquer obrigao, de forma
que, se deixar transcorrer o prazo para a investidura sem sua efetivao, o ato de
provimento simplesmente tornado sem efeito. A posse, ao contrrio, ato jurdico
criador de direitos e obrigaes para o agora servidor, sendo que a inrcia deste em
efetivamente entrar no exerccio de suas funes acarreta sua exonerao do cargo
no qual foi anteriormente investido.
No basta o comparecimento formal do servidor e a assinatura do termo de
posse para que se considere esta completada. Alm de outros requisitos legais, deve
ter sido o nomeado previamente considerado apto fsica e mentalmente para o
exerccio do cargo, em inspeo mdica oficial, e apresentar declarao de bens e
valores que constituem seu patrimnio.
A inspeo mdica tem por intuito certificar que o indivduo realmente satisfaz as
condies fsicas e mentais necessrias a um eficaz desempenho de suas atribuies.
H uma srie de doenas, elencadas no 1 do art. 186 do RJU, impeditivas da posse.
So doenas como tuberculose ativa, alienao mental, esclerose mltipla, neoplasia
maligna, entre outras, que conferem a quem j for servidor o direito aposentadoria
por invalidez. Seria um absurdo jurdico permitir-se que algum pudesse ser investido
em cargo pblico j prenchendo os requisitos para, imediatamente aps sua
investidura, ser transferido para a inatividade remunerada.
A declarao de bens e valores tem o evidente objetivo de, se no impedir, ao
menos dificultar o locupletamento ilcito do servidor no exerccio do cargo, mediante o
controle da evoluo do seu patrimnio. A importncia desse instrumento de controle
da conduta administrativa fez com que fosse o mesmo ampliado pela Lei 8.429/92.
5.5. EXERCCIO
Exerccio o efetivo desempenho das atribuies do cargo pblico ou da
funo de confiana.
A posse o ato pelo qual algum investido em determinado cargo. Mas o
efetivo desempenho das atribuies relativas ao cargo que sinalizam o incio das
relaes entre o servidor e a Administrao que tomam por base o tempo de servio.
Dessa forma, apenas quando o servidor entra em exerccio que comea a correr o
prazo para a aquisio de diretos como frias, estabilidade, dcimo-terceiro salrio etc.
5.6. ESTGIO PROBATRIO
O estgio probatrio visa comprovao da aptido e da capacidade do
servidor para o desempenho das atribuies do cargo. Sempre que o servidor for
empossado em novo cargo obrigatoriamente ter que se submeter a novo estgio
probatrio. Isto se deve ao fato de que o estgio visa avaliao das condies do
servidor para o exerccio de determinado cargo, e no para o servio pblico em geral,
de forma que, empossado em novo cargo, submetido a novo estgio.
A EC 19/98 alterou o perodo para a aquisio da estabilidade de dois para trs
anos. Com isso, surgiu dvida quanto extenso desta mudana para o estgio
probatrio: teria sido seu perodo de durao tambm aumentado para trs anos?
A concluso a que se chegou que no h qualquer vinculao necessria
entre o tempo para aquisio da estabilidade e o tempo de durao do estgio
probatrio. Desta forma, livre a cada pessoa poltica estipular o prazo para a
durao do estgio de seus servidores, desde que ele no ultrapasse o prazo para
aquisio da estabilidade. Na esfera federal, o estgio probatrio segue sendo de vinte
e quatro meses.
A reprovao no estgio e a consequente exonerao no so penalidades para o
servidor. A inabilitao significa apenas que a pessoa no tem aptido para o exerccio
daquele cargo, embora possa ter para outros. por isso que o servidor apenas
exonerado (medida sem carter punitivo), e no demitido (medida com carter
punitivo).
Apesar do carter no-punitivo da exonerao em decorrncia de no aprovao
em estgio probatrio, entende o STF que a medida deve ser obrigatoriamente
precedida de processo administrativo, mesmo que singelo, onde seja assegurado ao
servidor o direito de se contrapor s alegaes que lhe so desfavorveis.
Ainda, entende a Corte que o estgio no protege o servidor contra a extino do
seu cargo. De forma que, extinto este, dever ser o servidor exonerado.
5.7. VACNCIA
Vacncia e provimento so dois institutos que se complementam. Enquanto
por meio deste se d o prenchimento dos cargos pblicos, por meio daquela os
cargos pblicos so desocupados.
H hipteses de vacncia que no se relacionam ao provimento de novo cargo
pelo servidor, e h hipteses em que ocorre, simultaneamente, vacncia de um cargo
e provimento de outro. H simultaneamente vacncia e provimento nos casos de
promoo, readaptao e posse em outro cargo inacumulvel. Nos demais casos
ocorre apenas vacncia.
A vacncia pode, ainda, ocorrer com ou sem o rompimento do vnculo entre
a Administrao e o servidor. Pode, ainda, resultar de ato voluntrio do servidor; de
um ato de ofcio da Administrao, sem a anuncia do servidor; ou mesmo de um
fato jurdico, cuja ocorrncia prescinde de qualquer manifestao de vontade.
Vamos analisar essas diferentes formas de manifestao da vacncia luz das
suas hipteses de ocorrncia previstas no art. 33 da Lei 8.112/90, que so as
seguintes:
1) exonerao;
2) demisso;
3) promoo;
4) readaptao;
5) aposentadoria;
6) posse em outro cargo inacumulvel;
7) falecimento.
A exonerao pode se dar a pedido do servidor ou por ato de ofcio da
Administrao. Em qualquer dessas hipteses acarreta a ruptura do vnculo do servidor
com a Administrao. Quando for a pedido do servidor , obviamente, ato voluntrio
da sua parte; quando for de ofcio, ato da Administrao sem necessidade de
anuncia pelo servidor.
A demisso tem sempre carter punitivo, resultando no rompimento do vnculo
funcional por ato da Administrao, independente de consentimento do servidor,
caractersticas que derivam logicamente da sua natureza punitiva.
A promoo , simultaneamente, ato de provimento e de vacncia. Permanece
intacto o vnculo funcional, pois o servidor continua ocupando o mesmo cargo, apenas
em posio superior da carreira. Resulta de ato de ofcio da Administrao.
A readaptao, conforme o art. 24 do RJU, a investidura do servidor em
cargo de atribuies e responsabilidades compatveis com a limitao que tenha sofrido
em sua capacidade fsica ou mental verificada em inspeo mdica. , a exemplo da
promoo, concomitantemente forma de provimento e de vacncia. Decorre de um ato
de ofcio da Administrao, adotado em funo da ocorrncia de um fato jurdico
(limitao da capacidade fsica ou mental do servidor). Como o servidor desocupa seu
cargo para prencher outro, cujas atribuies sejam compatveis com as limitaes que
tenha sofrido, aqui no h quebra, mas alterao do vnculo funcional.
A aposentadoria pode emanar de ato voluntrio do servidor (aposentadoria
voluntria), ou de ato de ofcio praticado em funo da ocorrncia de determinado fato
jurdico (a invalidez ou o atingimento do limite de 70 anos de idade, conforme tratar-
se de aposentadoria por invalidez ou compulsria). Em qualquer hiptese, subsiste a
relao funcional, que apenas tem alterada sua natureza.
A posse em cargo inacumulvel tambm , ao mesmo tempo, forma de
provimento e vacncia. Decorre de ato de ofcio da Administrao (a declarao de
vacncia do cargo propriamente dita), mas em funo de ato voluntrio do servidor
(sua posse em cargo inacumulvel). Aqui h rompimento do vnculo do servidor com a
Administrao, mas imediatamente forma-se nova relao jurdica, em virtude da
posse no outro cargo.
O falecimento a ltima hiptese de vacncia. Resulta de fato jurdico que
ocasiona a ruptura definitiva do vnculo entre o servidor e a Administrao.
5.8. REMOO
Inicialmente, cabe enfatizar que remoo no forma de provimento, mas
instituto por meio do qual se d o deslocamento do servidor para exercer suas
atribuies em outra unidade do mesmo quadro, com ou sem mudana da
localidade de exerccio.
A remoo pode ocorrer de ofcio ou a pedido. No primeiro caso, ela
determinada no interesse da Administrao; no segundo, decorre da vontade do
servidor, nos termos da lei. Em regra, a Administrao poder negar o pedido de
remoo do servidor. Em determinadas situaes, porm, estar obrigada a deferi-lo.
Ao analisarmos o texto da Lei 8.112/90 teremos oportunidade de estudar as diferentes
modalidades de remoo.
Por ltimo, no podemos confundir este instituo com a transferncia. A
transferncia era forma de provimento, prevista originalmente no RJU, pela qual se
permitia ao servidor ocupar cargo de igual denominao ao seu, mas em quadro de
pessoal diverso. O STF declarou inconstitucional esta forma de provimento, que
permitia ao servidor, sem concurso pblico, passar a receber remunerao em valor
superior que a percebida em seu cargo anterior. Em virtude disso, a Lei 9.527/97
revogou a transferncia do RJU.
5.9. REDISTRIBUIO
A redistribuio, a exemplo da remoo, no forma de provimento; mas,
diferente desta, tambm no forma de deslocamento do servidor. Consiste a
redistribuio no deslocamento de cargo de provimento efetivo para outro rgo ou
entidade do mesmo Poder.
Como diz Vicente Paulo, importante notar que a redistribuio somente existe
ex officio. No seria razovel imaginarmos um servidor pedindo para seu cargo ser
deslocado para outro rgo ou entidade!
5.10. DIREITOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PBLICOS CIVIS
FEDERAIS
5.10.1. VENCIMENTO E REMUNERAO
Neste ponto apenas queremos esclarecer que o RJU, a fim de evitar imprecises
terminolgicas, definiu nos art. 40 e 41 os conceitos de vencimento e remunerao.
Nos termos da lei, vencimento o valor bsico que o servidor recebe em funo do
exerccio de determinado cargo, e remunerao a soma do vencimento com as
demais vantagens pecunirias de carter permanente percebidas pelo servidor.
5.10.2. VANTAGENS
Para fins de anlise do RJU, devemos considerar como vantagens todas as
prestaes pecunirias recebidas pelo servidor que no se enquadrem no conceito de
vencimento. Tais vantagens, quando permanentes, integram a remunerao do
servidor, do contrrio esto dela excludas.
Tambm esto fora do conceito de remunerao os valores de natureza
indenizatria recebidos pelo servidor, que visam apenas a recompor o seu patrimnio
(e no a acresc-lo, como as vantagens de carter remuneratrio). Nos termos do
RJU, o termo vantagens gnero, que engloba as espcies indenizaes (sempre
excludas da remunerao), gratificaes e adicionais (as duas ltimas podem ou no
compor a remunerao do servidor, conforme sejam ou no permanentes).
5.10.3. FRIAS
Frias o perodo de descanso anual a que tem direito o servidor.
5.10.4. LICENAS, AFASTAMENTOS E CONCESSES
Licenas, afastamentos e concesses so ausncias autorizadas do servidor ao
servio. O perodo de ausncia poder ser contado como de efetivo exerccio ou no,
poder ser remunerado ou no, conforme a hiptese de licena, afastamento ou
concesso de que se trate.
5.11. REGIME DISCIPLINAR
O regime disciplinar composto das normas que versam sobre os deveres, as
obrigaes, as responsabilidades e as penalidades relacionadas aos servidores pblicos
quando no desempenho de suas funes.
5.12. SINDICNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)
Nos termos da Lei 8.112/90, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) o
instrumento legal de que dispe a Administrao para apurar o cometimento de
infraes graves pelos seus servidores e proceder aplicao das penalidades cabveis.
O PAD o principal, mas no o nico meio juridicamente apto
imposio de penalidades por faltas administrativas. A Lei 8.112/90 prev
tambm a sindicncia, processo mediante o qual podem ser impostas ao servidor as
penalidades de advertncia e de suspenso por at trinta dias. Como se nota, trata-se
de sanes no to graves, motivo pelo qual a sindicncia processo mais clere que
o PAD.
Sempre que houver possibilidade de serem aplicadas as penalidades de demisso,
cassao de aposentadoria ou disponibilidade, destituio de cargo em comisso,
destituio de funo comissionada ou suspenso superior a trinta dias (respeitado o
limite de noventa dias) indispensvel a instaurao do PAD.
Em regra, a Administrao instaura a sindicncia para apurar o cometimento de
faltas administrativas, iniciando o PAD apenas se na sindicncia for apurada falta que
enseje imposio de uma das penalidades mais graves, acima arroladas. Nada impede,
contudo, que se decida pela instaurao do PAD sem prvia sindicncia.
5.12.1. RITO SUMRIO (ACUMULAO, ABANDONO DE CARGO,
INASSIDUIDADE HABITUAL)
Uma das mofificaes promovidas pela Lei 9.527/97 no RJU foi a criao de um
processo administrativo de rito simplificado.
A partir dessa inovao legislativa o processo administrativo disciplinar (PAD)
comporta dois ritos, o sumrio e o ordinrio. A adoo de um deles est vinculada
espcie de infrao funcional objeto de apurao.
Para os casos de acumulao ilcita de cargos pblicos, abandono de cargo ou
inassiduidade habitual, previsto o PAD de rito sumrio, constante nos art. 133 e 140
da Lei 8.112/90, alterados pela Lei 9.527/97.
Para as demais infraes funcionais utiliza-se o PAD de rito ordinrio, que segue
as disposies dos art. 143 a 182 da Lei 8.112/90.
5.12.2. REVISO DO PROCESSO
Reviso a reapreciao, a pedido ou de ofcio, de deciso que imps
determinada penalidade ao servidor, sempre que presentes fatos novos ou
circuntncias relevantes capazes de justificar a inadequao da punio aplicada.
O PAD processo de instncia nica, Logo, no podemos considerar a reviso
como sua segunda instncia. Quanto h previso de dupla instncia no rito de um
processo, basta que a parte inconformada com a primeira deciso, com base nos
mesmos elementos j trazidos aos autos, manifeste tal desconformidade ao rgo
ou autoridade superior e, em princpio, lhe ser reconhecido o direito de obter uma
nova deciso.
No o que ocorre na reviso do PAD, que possui requisitos especficos de
admissibilidade, no bastando parte interessada alegar e fundamentar sua
discordncia quanto primeira deciso. indispensvel, no caso, que a parte pleiteie a
reviso com base em fatos novos ou circunstncias suscetveis de justificar a
inadequao da penalidade aplicada. A Administrao, quando der incio de ofcio
ao processo de reviso, ter tambm que se fundar num desses argumentos.
QUESTES DE PROVAS ANTERIORES DO CESPE
SERVIDORES PBLICOS
(PROCURADOR INSS/1998)
1. O servidor de uma fundao pblica federal far jus a trs meses de licena, a ttulo
de prmio por assiduidade, aps cada qinqnio ininterrupto de efetivo exerccio do
cargo.
2. Na hiptese de substituio do servidor investido em cargo de direo, o substituto
s far jus retribuio pelo exerccio do referido cargo por perodo que exceder a
trinta dias de afastamento do titular.
3. O servidor investido em cargo efetivo e designado para desempenho de funo de
chefia no ter direito incorporao, na sua remunerao, de qualquer proporo de
respectiva gratificao.
4. facultado ao servidor converter um tero do perodo de frias em abono
pecunirio, desde que o requeira com, pelo menos, sessenta dias de antecedncia.
5. No admissvel que servidor ocupante de cargo efetivo de um rgo pblico seja
transferido para cargo de quadro de pessoal de outro rgo, ainda que ambos os
rgos integrem a estrutura do mesmo poder.
6. O servidor que contar tempo de servio para aposentadoria com provento integral
ser aposentado com a remunerao do padro da classe imediatamente superior
quela em que se encontra posicionado.
7. A servidora que adotar uma criana ter direito licena remunerada, cuja durao
(trinta ou noventa dias) variar conforme o adotado tenha mais ou menos um ano de
idade.
8. O servidor acidentado no curso do percurso da residncia para o trabalho ser
licenciado para tratamento sempre com remunerao integral.
9. O companheiro da servidora falecida beneficirio de penso alimentcia, mas
perder essa qualidade, extinguindo-se o benefcio, se vier a contrair npcias.
10. imprescritvel o direito ao benefcio de penso por morte do servidor. Todavia,
prescrevem em cinco anos as respectivas prestaes.
11. inconstitucional a lei que fixe idade mnima para o acesso a determinados cargos
pblicos em patamar superior a dezoito anos.
12. administrao pblica vedada a realizao de novo concurso pblico para
provimento de cargos se, no prazo de validade do certame anterior, ainda houver
candidatos aprovados mas no nomeados.
(FISCAL DO INSS/1998)
A Lei n 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispem sobre o Regime Jurdico
nico (RJU) dos servidores pblicos civis federais, sofreu diversas e profundas
alteraes com a converso da Medida Provisria n 1.573, e suas diversas reedies,
na Lei n 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Acerca dessas alteraes julgue os itens
abaixo.
13. Apenas os servidores da Unio e das autarquias federais passam a ser regidos
pelos RJU; os empregados de empresas pblicas, sociedade de economia mista e
fundaes pblicas sero regidos pelo regime celetista.
14. A asceno e o acesso, que j haviam sido declarados inconstitucionais pelo STF,
foram excludos do RJU.
15. Da data da posse, o servidor dever entrar em exerccio no prazo de quinze dias,
improrrogveis.
16. O estgio probatrio para servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
passa a ser de trinta meses.
17. Passa a ser admitida a demisso de servidor estvel em decorrncia de nmero
excessivo de servidores.
Em face das regras constantes no RJU dos servidores pblicos civis da Unio acerca
das suas responsabilidades civil, penal e administrativa, julgue os itens seguintes.
18. Considere que tenha sido instaurado, contra servidor, processo penal pelo
cometimento de crime contra a administrao pblica, e que este foi absolvido pela
negativa de autoria. Em face dessa situao, a responsabilidade administrativa do
servidor ficar automaticamente afastada.
19. Caso o servidor pblico a quem se imputou o dever de indenizar prejuzo causado
ao errio venha a falecer, essa obrigao de reparar o dano poder ser estendida aos
sucessores.
20. As sanes civis, penais e administrativas no podero ser cumuladas, a fim de se
evitar mltipla punio.
21. Condenado criminalmente o servidor por fato que causou prejuzo a terceiro, a
vtima do dano dever demandar a indenizao apenas do servidor, restando de pronto
afastada a responsabilidade civil da administrao.
22. A responsabilidade civil do servidor decorrer apenas de ato doloso, seja este
comissivo ou omissivo.
Joo da Silva ocupava o cargo de procurador autrquico do INSS. Em face de
profundas alteraes que a Constituio Federal tem sofrido no captulo concernente
administrao pblica, Joo requereu, e foi-lhe deferida, a concesso de aposentadoria
proporcional. Insatisfeito com sua nova situao de aposentado, Joo prestou concurso
para o cargo de fiscal de contribuies previdencirias do INSS. Considerando as
regras constantes na legislao pertinente e a orientao jurisprudencial firmada pelo
STF sobre acumulao de cargos, julgue os seguintes itens.
23. A acumulao dos proventos do cargo de procurador com os vencimentos do cargo
de fiscal ser considerada indevida.
24. Qualquer acumulao de cargos, empregos ou funes pblicos ser tida como
inconstitucional. Essa impossibilidade total de acumulao de cargos na atividade
estende-se acumulao na inatividade.
25. Independentemente da discusso acerca da acumulao dos cargos, Joo,
empossado no novo cargo, ter que cumprir novo estgio probatrio e, caso no o
cumpra, ser demitido.
26. Caso Joo renunciasse ao provento da aposentadoria, ainda assim seria reputada
ilcita a acumulao dos cargos de procurador e fiscal do INSS.
27. Caso o servidor tivesse pedido exonerao, e no a sua aposentadoria, no cargo de
procurador, no qual j havia adquirido a estabilidade, e fosse empossado no cargo de
fiscal, no teria de se submeter a novo estgio probatrio.
(PROCURADOR DO INSS/1999)
Considere que um servidor pblico civil da Unio falte ao servio intencionalmente por
31 dias seguidos. Em face dessa situao hipottica, julgue os seguintes itens.
28. Dever ser instaurado processo administrativo sumrio visando apurao do
ilcito, sendo possvel a aplicao da pena de demisso.
29. Dever o servidor ser removido de ofcio para outra localidade, antes da
instaurao da sindicncia administrativa.
30. Comprovado o ilcito administrativo por meio de processo administrativo
disciplinar, devero ser descontados os dias de falta do servidor, que dever ainda ser
apenado com a sano de advertncia.
31. Simultaneamente instaurao do processo administrativo sumrio visando a
apurao do abandono de cargo, dever a administrao pblica indicar a
materialidade da transgresso que, na hiptese, dar-se- pela indicao precisa do
perodo de ausncia intencional do servidor pblico superior a trinta dias.
32. Caso o servidor venha a ser demitido em funo do ocorrido, ele jamais poder
retornar ao servio pblico.
Em relao ao regime jurdico dos servidores pblicos civis da Unio, julgue os itens a
seguir.
33. Nas hipteses de provimento de cargo pblico federal por readaptao ou
reverso, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercer as atividades como
excedente, at a ocorrncia da vaga.
34. O servidor reintegrado exercer as atividades como excedente, na hiptese de
encontrar-se provido o cargo.
35. A redistribuio forma de provimento de cargo pblico, utilizada na hiptese de
extino de rgos.
36. Caso haja previso legal os cargos pblicos federais podero ser providos ou
extintos pelo presidente da Repblica.
37. Em regra, o incio de exerccio de funo de confiana d-se no mesmo dia em que
publicado o ato de designao.
(AGENTE DA PF/2000)
Considere a seguinte situao hipottica.
Orlando servidor de nvel mdio do quadro funcional do Ministrio da Justia, onde
trabalha exatamente h um ano, dois meses e vinte dias, no tendo gozado frias,
nem solicitado qualquer licena ou faltado ao trabalho um dia sequer. Insatisfeito com
sua remunerao, Orlando decidiu submeter-se a concurso para provimento de cargos
de agente de polcia federal. Ele foi aprovado na primeira etapa do certame,
constituda de prova escrita, exame mdico, prova de capacidade fsica e avaliao
psicolgica, o que lhe garantiu o direito de passar segunda etapa no concurso,
consistente em curso de formao profissional.
Acerca do direito administrativo e da situao proposta, julgue os itens abaixo.
38. Como Orlando ainda encontrava-se em estgio probatrio, a administrao pblica
no poderia conceder-lhe licena para participar do curso de formao profissional.
39. Caso Orlando pedisse hoje exonerao do cargo que ocupa hoje no Ministrio da
Justia, ento ele teria direito a receber, a ttulo de frias, o valor correspondente a
cinco teros da sua remunerao na data da exonerao.
40. Se viesse a tomar posse no cargo de agente de polcia federal, quando j fosse
estvel no cargo que ocupava no quadro funcional do Ministrio da Justia, ento
Orlando poderia pedir a vacncia deste cargo em decorrncia de posse em cargo
inacumulvel. Nesse caso, se fosse reprovado no estgio probatrio no cargo de
agente da polcia federal, Orlando poderia ser reconduzido ao antigo cargo.
41. Caso Orlando viesse a ser aprovado no referido concurso, sua posse seria
condicionada apresentao de declarao de bens e valores que compusessem tanto
seu patrimnio privado quanto o patrimnio de seu cnjuge ou da sua companheira e
das demais pessoas que vivessem em sua dependncia econmica.
42. Se o referido concurso tivesse sido realizado para o preenchimento de vinte vagas
e Orlando fosse aprovado na dcima colocao, ento seria obrigatria a sua
nomeao para o cargo de agente de polcia federal antes do final do prazo de validade
do certame.
43. Sendo demandada sua assistncia direta e contnua, um servidor de uma fundao
pblica federal teria direito a fruir licena por motivo de doena de sua companheira.
Todavia, no sendo civilmente casado, um agente de polcia federal no poderia fruir
essa mesma licena.
44. Caso ficasse demonstrado, em sede de processo administrativo regularmente
realizado, que um agente de polcia federal receber R$ 20.000,00 para deixar de
realizar a priso em flagrante de um traficante de drogas, ento haveria de ser-lhe
imposta, administrativamente, a pena de demisso. Todavia, se o agente fosse
processado criminalmente pela prtica do mesmo fato, simultaneamente tramitao
do processo administrativo, ele s poderia ser demitido aps o trnsito em julgado da
respectiva sentena condenatria.
(PAPILOSCOPISTA DA PF/2000)
45. Se um cidado no-integrante da administrao pblica auferir benefcio em razo
de ato de improbidade perpetrado por dirigente de autarquia, aquele poder figurar no
plo passivo do processo derivado da improbidade, mesmo em face da condio sua de
particular.
46. O agente pblico somente poder ser responsabilizado judicialmente por ato de
improbidade se houver completa tipificao do ato no Cdigo Penal e na legislao
penal especial.
(TITULAR DE CARTRIO DO DF/2000)
47. Considere a seguinte situao hipottica.
O presidente de uma autarquia federal resolveu autorizar a instaurao de
procedimento administrativo para a ascenso funcional de servidores do ltimo nvel
de uma carreira para o primeiro nvel da carreira seguinte. Ao mesmo tempo, limitou a
ascenso aos servidores que no contassem mais de cinqenta anos de idade.
Nessa situao, os atos administrativos examinados so nulos, seja porque o
entendimento prevalecente da doutrina e da jurisprudncia no sentido de que no se
admite, em face da Constituio, nenhuma forma de provimento derivado de cargo,
como a ascenso, seja porque a doutrina e a jurisprudncia tambm consideram
majoritariamente que inconstitucional qualquer limitao de idade aos cargos
pblicos.
(DEFENSOR PBLICO DA UNIO/2001)
A respeito do regime jurdico do servidor pblico, julgue os seguintes itens.
48. Considere a seguinte situao hipottica.
Jos, que procurador da Repblica aposentado, exerce o magistrio superior em
instituio privada de ensino e est inscrito no presente concurso pblico para o cargo
de Defensor Pblico da Unio.
Nessa situao, se Jos for aprovado, ser legal o seu exerccio no novo cargo.
49. O retorno do regime celetista ao servio pblico, por fora da Emenda
Constitucional n 19, de 1998, permitir que o municpio adote esse regime para todas
as funes pblicas exercidas em seu mbito, abolindo, totalmente, o regime
estatutrio.
50. A remunerao sob a forma de subsdio alcana obrigatoriamente os membros de
Poder de qualquer das esferas federativas, bem como os integrantes das carreiras de
procurador do Estado e membros da Advocacia da Unio, sendo facultativa a sua
adoo para os demais servidores organizados em carreiras.
51. Ao servidor ocupante de cargo pblico, garantida a proteo do respectivo
salrio, na forma da lei, sendo crime a sua reteno dolosa.
52. Considera-se ilcita a criao do cargo pblico, de provimento em comisso, de
motorista do prefeito municipal, por motivo de reforma administrativa no mbito de
uma prefeitura municipal.
(FISCAL DO INSS/2001)
53. Uma lei que extingue gratificaes e adicionais, mas eleva o vencimento-base do
cargo, no afronta a garantia da irredutibilidade de vencimentos, se no houver
decesso no quantitativo geral da remunerao dos servidores.
54. O servidor, antes de completar trs anos de servio pblico, pode ser demitido,
independentemente de procedimento administrativo que lhe assegure a ampla defesa
e o contraditrio.
55. Considere que um servidor tenha cometido falta administrativa, ocasionando dano
financeiro para a administrao. Nessa situao, o servidor no poder sofrer sano
administrativa nem dele poder ser cobrada a reparao pelo prejuzo causado ao
errio se o prazo de prescrio relativamente punio de tal ilcito estiver vencido.
(PROCURADOR DA AGU/2001)
56. O concurso pblico ato-condio para a nomeao em cargo efetivo.
57. A Lei n 8.112/1990 exige com requisitos bsicos para a investidura em cargo
pblico que o candidato seja brasileiro nato, sem qualquer fixao de limite de idade.
(CONSULTOR DO SENADO/2002)
58. No h direito adquirido na forma de regime jurdico.
(DELEGADO DA PF/2002)
Em consonncia com a classificao de Celso Antnio Bandeira de Mello, os agentes
pblicos formam uma categoria a que pertencem os agentes polticos, os servidores
pblicos e os particulares em atuao colaboradora com o poder pblico. Com relao
ao regime jurdico a que esto subordinados os agentes pblicos, julgue os seguintes
itens.
59. A prevaricao crime prprio de funcionrio pblico com vnculo efetivo. Assim,
caso seja praticada por ocupante de emprego pblico, a mesma conduta incidir em
tipo penal diverso.
60. Os estrangeiros podem ocupar funo ou emprego pblico no Brasil.
61. A Constituio de 1988 prev, em carter obrigatrio, o regime de remunerao na
forma de subsdio para todos os policiais federais.
62. O direito de greve dos servidores pblicos ainda no foi regulado por lei especfica,
a qual poder instituir o direito de os respectivos sindicatos ajuizarem dissdios
coletivos perante a justia do trabalho, na hiptese de serem frustadas as tentativas
de negociao direta.
63. Se invalidada por sentena judicial a demisso de policial, decorrente de
condenao administrativa por abuso de autoridade, ter ele direito reintegrao na
vaga que antes ocupava.
(ESCRIVO DA PF/2002)
64. Considere as seguintes situaes hipotticas.
O funcionrio pblico Aristteles, que ocupava determinado cargo pblico, dele pediu
exonerao, por haver sido aprovado em concurso pblico promovido pelo DPF. A
funcionria pblica Ceres, no exerccio da funo, contraiu molstia grave e veio a
falecer. O funcionrio pblico Juscelino, por sua vez, foi promovido para o cargo mais
elevado na carreira de que fazia parte.
Em cada uma das situaes houve vacncia do cargo antes ocupado pelo funcionrio;
nos dois primeiros casos, ela deu-se com extino do vnculo, ao contrrio do ltimo,
em que houve manuteno do vnculo. No caso do funcionrio Aristteles, a vacncia
ocorreu por vontade do agente pblico.
65. A legislao dos servidores pblicos civis da Unio (Lei n 8.112/1990) no trata
de casos de vitaliciedade, mas sim de estabilidade, pois aqueles so previstos na
prpria Constituio da Repblica.
(AGENTE DA PF/2002)
A Lei n 9.962, de 22/2/2000, disciplinou o regime de emprego pblico do pessoal da
administrao federal direta, autrquica e fundacional. A respeito dessa lei, julgue os
itens que se seguem.
66. O pessoal admitido para emprego pblico na administrao federal direta ter sua
relao de trabalho regida pela Consolidao das Leis do Trabalho e legislao
trabalhista correlata, naquilo que a lei no dispuser em contrrio.
67. permitido submeter ao regime de emprego pblico, por rgo, no mximo a
metade dos cargos pblicos de provimento em comisso.
68. vedado administrao pblica rescindir contrato de trabalho por prazo
indeterminado por insuficincia de desempenho de empregado que tenha sido admitido
por concurso pblico, pois lhe assegurada a estabilidade no emprego.
69. A administrao pblica no poder, por ato unilateral, rescindir contratos de
trabalho por prazo indeterminado em razo da necessidade de reduo do quadro de
pessoal decorrente de excesso de despesa.
70. A contratao de pessoal para emprego pblico dever ser precedida de concurso
pblico de provas ou de provas e ttulos, ou de processo seletivo simplificado,
constando de anlise da experincia profissional e de entrevistas, conforme a natureza
e a complexidade do emprego.
71. Considere a seguinte situao hipottica.
Clio era titular do cargo de nvel mdio de fiscal de tributos federais, extinto,
juntamente com suas carreiras, pela Lei n 2000/2001. A referida lei criou, em
substituio, a carreira de auditor-fiscal da Receita Federal, com duzentos cargos de
nvel superior e com contedo ocupacional diverso, determinando o aproveitamento
dos ocupantes dos cargos extintos ora criados.
Nessa situao, houve uma prova de provimento derivado de cargo pblico
perfeitamente permitido pelo Regime Jurdico nico e pela Constituio da Repblica.
72. (Analista Jucicirio TRT 17 Regio/1999) - A reinvestidura do servidor estvel
no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformao,
ocorrer em decorrncia de ser
(A) ilegtima a sua aposentadoria por tempo de servio, mediante deciso judicial ou
administrativa, em decorrncia do instituto da readmisso.
(B) declarada invalidada a sua demisso por deciso administrativa, com
ressarcimento de todas as vantagens, mediante o instituto da reintegrao.
(C) a sua exonerao por ato da Administrao passvel de anulabilidade, sem
ressarcimento de quaisquer vantagens, em razo do instituto da reverso.
(D) conveniente e oportuno o seu reaproveitamento, sem direito ao ressarcimento de
qualquer vantagem, como conseqncia do instituto da transposio.
(E) decretada a sua demisso por deciso judicial, sem ressarcimento de quaisquer
vantagens, mediante o instituto da reconduo.
73. (Analista Jucicirio TRT 17 Regio/1999) - A posse ocorrer no prazo de trinta
dias contados da publicao do ato de provimento, sendo que o referido prazo ser
contado do trmino do impedimento, quando o servidor estiver, na data da publicao
do ato de nomeao, dentre outras hipteses:
(A) em misso ou estudo no exterior e no exerccio de atividade poltica.
(B) no exerccio de cargo em comisso e no desempenho de mandato classista.
(C) por motivo de afastamento do cnjuge e no exerccio de funo de confiana.
(D) em licena para capacitao e em licena paternidade.
(E) em licena para tratar de interesses particulares e no desempenho de mandato
eletivo municipal.
74. (Analista Judicirio rea judiciria STJ/99) -. Alguns dos servidores do STJ
encaminharam a denncia direo administrativa do Tribunal, por meio da qual
afirmavam-se vtimas de Mvio, tambm servidor do STJ, pela prtica de crime de
usura. Informaram que Mvio lhes teria emprestado quantias em dinheiro mediante
em cobrana de juros de 20% ao ms, acrescentando que, embora j tivessem pago
mais do dobro da quantia inicialmente emprestada, o dbito ainda estaria em
montante elevado. Sustentaram que estariam sofrendo constantes ameaas por parte
de Mvio, a quem teriam dado em garantia notas promissoras e cheques assinados,
mas sem o preenchimento de valores e datas. Informaram, ainda, que Mvio era
diariamente procurado em sua seo por servidores do Tribunal que necessitavam de
emprstimo, sendo de notrio conhecimento a prtica de agiotagem por parte daquele
servidor.
Com base na situao hipottica apresentada, assinale a opo correta.
a) Mvio, sendo ocupante de cargo efetivo, poder ser exonerado em decorrncia da
sua conduta ilcita. Todavia, se for ocupante de cargo comissionado, sem vnculo
efetivo, no responder a processo disciplinar, devendo a direo do STJ limitar-se a
comunicar a conduta do servidor autoridade que o indicou funo de confiana.
b) A sano administrativa aplicvel a Mvio dever ser imposta pela autoridade
competente aps apresentao das concluses da sindicncia para apurao dos fatos,
que dever ser conduzida por trs servidores estveis.
c) O inqurito administrativo, como fase do processo disciplinar, ser conduzido
consoante os princpios que norteiam o inqurito na esfera criminal. Assim, a apurao
dos fatos, nessa fase, no ser presidida pelo princpio do contraditrio, mas, sim,
consoante o princpio inquisitrio.
d) As sanes civis, administrativas e penais que podem ser impostas a Mvio so
independentes, podendo cumular-se. Todavia, a absolvio criminal em decorrncia da
falta de provas ensejar a absolvio na esfera administrativa ou a reviso do
processo, caso a penalidade j tenha sido imposta.
e) Instaurado o processo disciplinar, Mvio no poder ser exonerado a
pedido, ou aposentado voluntariamente, antes do respectivo julgamento.
75. (Juiz Substituto PE/2000) - No que tange aos servidores pblicos, assinale a
opo correta.
(A) circunstncia de um servidor pblico ser absolvido, na instncia administrativa, na
judicial ou na cvel, impede que ele sofra punio em outras delas.
(B) Considere a seguinte situao hipottica.
Um determinado rgo pblico estadual possui duas carreiras ligadas ao servio
pblico que presta. A carreira de qualificao menos elevada denomina-se Carreira
dos Tcnicos de Nvel Mdio e composta por quatro nveis (Tcnico NM-1 a Tcnico
NM-4). A carreira de qualificao mais complexa intitula-se Carreira dos Tcnicos de
Nvel Superior e possui tambm quatro nveis (Tcnico NS-1 a Tcnico NS-4). As
atribuies da duas carreiras possuem alguma afinidade, em razo da atividade tpica
do rgo, mas so distintas, uma vez que os tcnicos de nvel superior desempenham
tarefas mais complexas e precisam ter graduao universitria. Evidentemente, a
remunerao destes mais alta que a dos tcnicos de nvel mdio, que precisam ter
instruo apenas at o ensino mdio, o antigo segundo grau. Uma lei ordinria
estadual unificou as duas carreiras, de maneira que, mediante provimento derivado,
um tcnico de nvel mdio pode galgar at o ltimo nvel da carreira de tcnico de
nvel superior. O provimento inicial para o cargo do nvel inicial da carreira unificada
depende da aprovao e classificao em concurso pblico.
Nessa situao, por garantir o acesso mediante concurso pblico, a referida lei
ordinria plenamente compatvel com a Constituio da Repblica.
(C) Para a admisso de servidores pblicos por meio de concurso, a jurisprudncia do
STF admite o estabelecimento de limites etrios aos candidatos, sem que isso
signifique, necessariamente, ofensa aos princpios da igualdade e da acessibilidade aos
cargos pblicos.
(D) Em face da exigncia constitucional expressa de concurso pblico para o
provimento de cargos no poder pblico, esto banidas do ordenamento jurdico
brasileiro todas as formas de provimento derivado.
(E) Considere a seguinte situao hipottica.
Um auditor fiscal do estado de Pernambuco deu, dolosamente, no incio de 1989, a um
contribuinte, uma certido negativa de dbito falsa, com a finalidade de que o
interessado pudesse realizar um determinado negcio jurdico. O negcio consumou-se
e causou dano ao errio. A fazenda estadual veio a descobrir o ato criminoso por meio
de procedimento administrativo regular e, em conseqncia, demitiu o servidor
desavergonhado e formulou notcia-crime ao MP estadual. No entanto, deixou de
ajuizar ao para ressarcimento do patrimnio pblico. Muitos anos depois, o estado
de Pernambuco apercebeu-se da omisso e ajuizou a ao indenizatria. O ru, ao
defender-se, argiu, preliminarmente, que o direito do estado teria sido alcanado pela
prescrio, com base me uma lei estadual que, de fato, estipulava prazo menor para o
ajuizamento da ao que aquele que o estado levara para pleitear judicialmente a
indenizao.
Nessa situao, o juiz de direto da vara dos feitos da fazenda estadual dever aplicar a
lei estadual e extinguir o processo, em razo da prescrio.
76. (Juiz Substituto TJ RN/1999) - direito constitucionalmente assegurado aos
servidores pblicos civis a
(A) acumulao de aposentadorias, no regime de previdncia de carter contributivo,
decorrentes dos cargos acumulveis na forma da Constituio.
(B) percepo de proventos integrais na hiptese de aposentadoria compulsria aos 70
anos de idade.
(C) estabilidade aps 3 anos contados de sua posse em cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso pblico.
(D) percepo de subsdio, acrescido de eventuais abonos e gratificaes previstos em
lei.
(E) disponibilidade, com remunerao proporcional ao tempo de servio, na hiptese
de perda do cargo em decorrncia de processo de avaliao de desempenho.
77. (Juiz Substituto TJ RN/1999) - conseqncia necessria da aprovao em
concurso pblico para ingresso no servio pblica em cargo de provimento efetivo
(A) a nomeao do aprovado para o cargo em questo.
(B) a aquisio de estabilidade pelo aprovado no prazo constitucionalmente previsto.
(C) a no preterio do aprovado, segundo a ordem de classificao, no momento da
nomeao.
(D) a indenizao do aprovado caso sua nomeao no ocorra no prazo
constitucionalmente previsto.
(E) o direito futura aposentadoria segundo as regras constitucionais vigentes na
poca da aprovao.
78. (Assistente Jurcido TJ AC/2002) Um servidor pblico que, aps aprovao em
concurso pblico em janeiro de 1998, tiver sido nomeado e entrado em efetivo
exerccio em maro desse mesmo ano ter adquirido o direito estabilidade em abril
de 2000.
79. (Assistente Jurcido TJ AC/2002) A Emenda Constitucional n. 20/ 98 assegurou
aos servidores titulares de cargos efetivos dos estados o regime de previdncia de
carter contributivo, preservando o equilbrio financeiro e atuarial.
80. (Atendente Judicirio TJ BA 2003) A sindicncia pode ser comparada ao inqurito
policial, haja vista dispensar a defesa do sindicado e a publicidade do procedimento
quando se tratar de simples verificao de irregularidades para eventual apurao de
responsabilidades.
81. (Atendente Judicirio TJ BA 2003) A absolvio criminal por insuficincia de prova
do servidor pblico demitido pela prtica de delito funcional impeditiva da aplicao
de penalidade disciplinar administrativa.
82. (Titular de Servios Notariais e de Registro TJDFT/2001) Joo, aposentado no
cargo de analista judicirio do STF, aps aprovao em concurso pblico, foi admitido,
no ano em curso, para o cargo de oficial de justia do TJDFT. O servidor do TJDFT
incumbido de examinar o ato de admisso de Joo considerou-o ilegal. Seu chefe, no
entanto, reviu o ato praticado pelo subordinado e considerou legal a admisso de Joo.
Considerando a situao hipottica acima e a legislao pertinente, julgue os itens a
seguir.
1 O poder de que se utilizou a chefia para rever o ato praticado pelo subordinado
caracteriza poder hierrquico.
2 Se, na situao em apreo, decorridos dez anos da concesso da aposentadoria de
Joo, descobrir-se que foi utilizada certido de tempo de servio falsa, a
administrao, haja vista o tempo decorrido, no poder anular a referida
aposentadoria.
3 Caso a acumulao dos proventos da inatividade com os vencimentos do cargo
efetivo seja considerada legtima, em face da aplicao imediata das normas
constitucionais, o valor decorrente desse somatrio, nele includas as vantagens de
carter pessoal, no poder ultrapassar o que, em espcie, for pago a ministro do STF.
4 A admisso de Joo dever ser considerada legtima. Ele, no entanto, dever optar
pelos proventos da aposentadoria ou pelos vencimentos do novo cargo efetivo. Se, por
outro lado, Joo fosse aposentado do Banco do Brasil, ele poderia acumular a
aposentadoria com os vencimentos do cargo efetivo, independentemente de qualquer
opo.
5 Ao entrar em exerccio no novo cargo, Joo dever ser submetido a estgio
probatrio de trs anos. Somente aps avaliao de desempenho e aprovao no
estgio probatrio Joo adquirir estabilidade. Nessa hiptese, Joo somente poder
perder o cargo em virtude de sentena judicial com trnsito em julgado ou mediante
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
83. (Analista Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Em relao aos servidores
pblicos e suas atividades, julgue os itens a seguir.
I A inassiduidade habitual caracteriza-se pela ausncia intencional ao servio, sem
justa causa, por sessenta dias intercalados durante um perodo de doze meses. Tal
procedimento acarreta a pena de demisso.
II Em decorrncia do princpio da verdade material, a autoridade que receber denncia
annima acerca de irregularidade cometida no servio pblico dever,
obrigatoriamente, providenciar a instaurao de sindicncia para apurao de
responsabilidades.
III vedado o exerccio de atividade remunerada durante o perodo da licena por
motivo de doena em pessoa da famlia.
IV Quando o relatrio da comisso contrariar as provas dos autos, a autoridade
julgadora, a seu critrio e sem fundamentao, poder agravar a penalidade proposta,
abrand-la ou isentar o servidor de responsabilidade.
V Em decorrncia do princpio do duplo grau de jurisdio, o servidor poder requerer
reviso do processo disciplinar, desde que no haja transcorrido o prazo do recurso,
alegando excesso e injustia na aplicao da penalidade.
A quantidade de itens certos igual a
A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.
84. (Analista Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Acerca de reverso e estgio
probatrio, assinale a opo correta.
A O servidor em estgio probatrio poder obter licena para o exerccio de atividade
poltica.
B O servidor estvel que no for aprovado em estgio probatrio ser exonerado e
reintegrado ao cargo anteriormente ocupado.
C A reverso, quando ocorre no interesse da administrao, aberta a todos os
servidores inativos pertencentes a determinado cargo ou naquele resultante de
eventual transformao mediante publicao de edital em jornal de grande circulao,
haja vista ser vedado ao poder pblico escolher os que podem retornar em razo do
princpio da impessoalidade.
D O estgio probatrio ficar suspenso durante as licenas e os afastamentos, exceto
na hiptese de participao em curso de formao para outro cargo efetivo, situao
em que o resultado ser considerado para efeito de verificao da capacidade do
servidor.
E A reverso o retorno atividade do servidor aposentado e, caso tenha ocorrido por
interesse da administrao, este servidor exercer suas atribuies na qualidade de
excedente, at a ocorrncia da vaga, haja vista a necessidade de atender o interesse
pblico manifesto na motivao do ato de nomeao.
85. (Analista Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Com referncia ao exerccio de
atividades no servio pblico, julgue os itens abaixo.
I O servidor estvel no-aprovado em estgio probatrio pode ser exonerado sem a
necessidade de processo administrativo, exceto se praticar, no exerccio do cargo, ato
de improbidade administrativa.
II A nomeao o ato caracterstico que aperfeioa a relao entre o Estado e o
servidor; a partir da, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo no
podero ser alterados, ressalvados os atos de ofcio.
III A reverso ser feita apenas no cargo em que ocorreu a aposentadoria.
IV Com a extino do cargo pblico, o servidor estvel ficar em disponibilidade com
remunerao proporcional ao tempo de contribuio, at que venha a ser aproveitado
em outro cargo.
A quantidade de itens certos igual a
A 0. B 1. C 2. D 3. E 4.
86. (Analista Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Julgue os itens a seguir.
I A exonerao de cargo em comisso se dar a pedido do servidor ou quando, de
acordo com a sua chefia imediata, no forem satisfeitas as condies do estgio
probatrio.
II A estabilidade um atributo pessoal do servidor, enquanto a efetividade uma
caracterstica do provimento de certos cargos.
III Pela falta residual no-compreendida na absolvio pelo juzo criminal admissvel
a punio administrativa do servidor pblico.
IV Promoo a forma de provimento de cargos dentro da mesma carreira.
V A vacncia acarreta o rompimento definitivo do vnculo jurdico entre o servidor e a
administrao.
Esto certos apenas os itens
A I, II e V.
B I, III e IV.
C I, IV e V.
D II, III e IV.ESTO 47
E II, III e V.
87. (Analista Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Em relao ao processo
administrativo disciplinar, assinale a opo correta.
A Na hiptese de o servidor no apresentar sua defesa no prazo regular, ser
declarada sua revelia, sendo reputadas verdadeiras todas as alegaes feitas contra
ele.
B Em decorrncia do princpio da presuno da inocncia, na reviso do processo, o
nus da prova mantido para a administrao.
C O relatrio da comisso ser remetido autoridade que determinou a instaurao do
processo para, se for o caso, emitir a deciso final.
D O presidente da comisso que conduzir o processo administrativo disciplinar poder
determinar que o servidor indiciado seja afastado do exerccio do cargo a fim de no
influir na apurao da irregularidade.
E O inqurito administrativo, a exemplo do inqurito policial, inquisitivo e sigiloso.
QUESTO 48
88. (Analista Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Julgue os itens subseqentes,
com respeito s penalidades aplicveis aos servidores pblicos federais.
I Entre as penalidades aplicveis aos servidores pblicos federais, encontra-se a multa,
que poder ser aplicada base de 50% da remunerao para os casos em que a
suspenso no for superior a trinta dias.
II Os prazos de prescrio previstos na lei penal aplicam-se s infraes disciplinares
capituladas como crime, exceto se superiores aos fixados pelo estatuto dos servidores.
III A demisso ou a destituio de cargo em comisso por improbidade administrativa
implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao errio, dispensando a ao
penal.
IV O servidor que for demitido ou destitudo do cargo em comisso por aplicao
irregular de dinheiro pblico poder retornar ao servio pblico federal aps cinco
anos, contados a partir da data em que foi publicado o ato punitivo, haja vista o
registro desse ato ser cancelado aps o decurso do respectivo prazo.
V Na aplicao das penalidades, sero consideradas a natureza e a gravidade da
infrao cometida, os danos que dela provierem para o servio pblico, as
circunstncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
A quantidade de itens certos igual a
A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.
QUESTO 49
89. (Analista Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Os servidores pblicos podero
licenciar-se com remunerao
A para o desempenho de atividade poltica desde a sua escolha em conveno
partidria.
B para o desempenho de mandato classista a partir da inscrio da chapa concorrente
no sindicato.
C por motivo de afastamento do cnjuge para exerccio de mandato eletivo.
D por motivo de doena do enteado, mediante comprovao de junta mdica oficial.
E para prestar servios em organismo internacional de que o Brasil participe.
UESTO 50
90. (Analista Judicirio Atividade Processual TJDFT/2003) - luz da Lei n.
8.112/1990, assinale a opo incorreta acerca de direitos e vantagens e dos processos
administrativo e disciplinar.
A O vencimento, a remunerao e o provento podero ser objeto de arresto, seqestro
ou penhora nos casos de prestao de alimentos resultantes de deciso judicial.
B O processo disciplinar pode ser, a qualquer tempo, revisto, de ofcio ou a pedido,
perante fatos novos ou elementos no-apreciados no processo e suscetveis de
justificar a inocncia do punido ou a inadequao da penalidade aplicada.
C A demisso por ato de corrupo determina que o ex-servidor jamais poder
retornar ao servio pblico federal.
D A extino da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional impede qualquer ato
da administrao tendente a registrar o fato nos assentamentos individuais do
servidor.
E Ao contrrio do processo administrativo disciplinar, a sindicncia pode ser instaurada
sem existir um indiciado, sendo possvel, inclusive, a no-apresentao de defesa
quando se concluir, por exemplo, pela instaurao do processo administrativo.
91. (Analista Judicirio Execuo de Mandados TJDFT/2003) - A reverso, quando
ocorre no interesse da administrao, aberta a todos os servidores inativos
pertencentes a determinado cargo ou naquele resultante de eventual transformao
mediante publicao de edital em jornal de grande circulao, haja vista ser vedado ao
poder pblico, em razo do princpio da impessoalidade, escolher os que podem
retornar.
92. (Tcnico Judicirio rea Administrativa e Judiciria TJDFT/2003) - De acordo
com a Lei n. 8.112/1990, assinale a opo correta a respeito das formas de
provimento dos cargos pblicos.
A Reintegrao a investidura de servidor em cargo de atribuies e responsabilidades
compatveis com a limitao que tenha sofrido em sua capacidade fsica ou mental.
B Reconduo o retorno de servidor pblico estvel ao cargo anteriormente ocupado
e decorrer de inabilitao em estgio probatrio relativo a outro cargo ou de
reintegrao do anterior ocupante.
C Reverso a reinvestidura de servidor estvel no cargo anteriormente ocupado,
quando invalidada a sua demisso.
D Aproveitamento a passagem de servidor estvel de cargo efetivo para outro de
igual denominao, pertencente a quadro de pessoal diverso, de rgo ou instituio
do mesmo poder.
E Readaptao o deslocamento do servidor, a pedido, no mbito do mesmo quadro
com mudana de sede.
93. (Tcnico Judicirio rea Administrativa e Judiciria TJDFT/2003) - Conforme a
Lei n. 8.112/1990, no que diz respeito s penalidades aplicveis ao servidor pblico,
assinale a opo correta.
A A inassiduidade habitual causa de demisso.
B A demisso por improbidade administrativa depende de prvia condenao judicial.
C Em qualquer situao, o servidor apenado com pena de suspenso no poder ser
obrigado a permanecer em servio.
D O servidor aposentado no est sujeito em nenhuma hiptese a pena disciplinar por
ato cometido quando estava em atividade.
E O abandono de cargo s se configura aps sessenta dias consecutivos de ausncia
intencional do servidor pblico.
94. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Muitos direitos trabalhistas
previstos na Constituio da Repblica so tambm direitos do servidor pblico em
regime estatutrio, reconhecidos constitucionalmente. Assinale a opo
correspondente ao nico benefcio que no faz parte dos direitos do servidor em
regime estatutrio.
A salrio mnimo
B dcimo terceiro salrio
C seguro contra acidente do trabalho
D remunerao de trabalho noturno superior do diurno
E hora extra
95. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Em relao aposentadoria,
assinale a opo correta.
A O servidor, para aposentar-se voluntariamente com a remunerao de seu cargo,
deve ocup-lo h pelo menos cinco anos.
B A aposentadoria por invalidez s ocorre na hiptese de doena de origem
profissional.
C Na aposentadoria compulsria, os proventos so sempre integrais.
D Na aposentadoria por invalidez, os proventos so sempre integrais.
E A aposentadoria compulsria para homens d-se aos 70 anos de idade e, para as
mulheres, aos 65 anos.
QUESTO 39
96. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - De acordo com a Lei n. 8.112,
de 11/12/1990, no que concerne aos cargos pblicos, assinale a opo correta.
A Nas empresas pblicas, todo cargo pblico efetivo.
B Os cargos pblicos so criados por lei, decreto ou portaria.
C Todos os cargos pblicos so de provimento efetivo.
D Servidor pblico a pessoa legalmente investida em cargo pblico.
E Nas sociedades de economia mista, h cargos pblicos efetivos.
QUESTO 40
97. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - A respeito dos requisitos de
investidura em cargos pblicos, consoante a Lei n. 8.112/1990, assinale a opo
correta.
A Mesmo com os direitos polticos suspensos, o brasileiro pode ser investido em cargo
pblico.
B A idade mnima para a investidura em cargo pblico de dezesseis anos.
C A quitao com as obrigaes eleitorais requisito para a investidura em cargo
pblico.
D O edital de um concurso pode criar requisito de escolaridade para investidura em
cargo pblico.
E As pessoas portadoras de deficincia fsica podem ser investidas em qualquer cargo
pblico.
QUESTO 41
98. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Acerca dos concursos pblicos,
segundo a Lei n. 8.112/1990, assinale a opo correta.
A Toda investidura em cargo pblico depende de aprovao em concurso pblico.
B O concurso pblico pode ser de provas, provas e ttulos ou somente de ttulos.
C Todo concurso pblico deve ser realizado em uma nica etapa.
D O prazo de validade de concurso pblico poder ser prorrogado por at duas vezes.
E No se abrir novo concurso pblico enquanto houver candidato aprovado em
concurso pblico anterior com prazo de validade no-expirado.
QUESTO 42
99. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - De acordo com a Lei n.
8.112/1990, assinale a opo correta, a respeito das formas de provimento dos cargos
pblicos.
A Reintegrao a investidura de servidor em cargo de atribuies e responsabilidades
compatveis com a limitao que tenha sofrido em sua capacidade fsica ou mental.
B Reconduo o retorno de servidor pblico estvel ao cargo anteriormente ocupado
e decorrer de inabilitao em estgio probatrio relativo a outro cargo ou de
reintegrao do anterior ocupante.
C Reverso a reinvestidura de servidor estvel no cargo anteriormente ocupado,
quando invalidada a sua demisso.
D Aproveitamento a passagem de servidor estvel de cargo efetivo para outro de
igual denominao, pertencente a quadro de pessoal diverso, de rgo ou instituio
do mesmo poder.
E Readaptao o deslocamento do servidor, a pedido, no mbito do mesmo quadro
com mudana de sede.
QUESTO 43
100. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - A vacncia de cargo pblico,
conforme a Lei n. 8.112/1990, decorrer de
A remoo.
B redistribuio.
C licena do servidor.
D promoo.
E frias.
QUESTO 44
101. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - De acordo com a Lei n.
8.112/1990, assinale a opo correta acerca das frias de servidor pblico.
A Por ocasio das frias, o servidor ter direito a um adicional correspondente a um
quarto da remunerao do perodo.
B O servidor pblico no pode parcelar seu perodo de frias.
C Para o primeiro perodo aquisitivo de frias, sero exigidos doze meses de exerccio.
D A vantagem decorrente de cargo em comisso no considerada para fins de clculo
do adicional de frias.
E Por corresponderem a um direito, as frias do servidor no podero ser
interrompidas por necessidade do servio.
102. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - A respeito dos vencimentos e
vantagens do servidor pblico, segundo a Lei n. 8.112/1990, assinale a opo
correta.
A Remunerao o vencimento do cargo efetivo, sem o acrscimo de quaisquer
vantagens pecunirias.
B Dirias no se incorporam ao vencimento do servidor.
C Gratificaes no se incorporam ao vencimento do servidor.
D Adicionais no se incorporam ao vencimento do servidor.
E Remunerao o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecunirias
temporrias estabelecidas em lei.
QUESTO 46
103. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Segundo a Lei n. 8.112/1990,
no que se refere s licenas de servidor pblico, assinale a opo correta.
A Licena por motivo de doena em pessoa da famlia ser concedida sem
remunerao e por at trinta dias.
B Licena por motivo de afastamento do cnjuge ser concedida sem remunerao e
pelo prazo mximo de trinta dias.
C Licena para a prtica de atividade poltica no ser admitida.
D Licena para tratar de interesses particulares ser concedida por at trs anos
consecutivos.
E Licena-prmio por assiduidade ser concedida aps cada qinqnio ininterrupto de
exerccio.
QUESTO 47
104. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Consoante a Lei n.
8.112/1990, ao servidor pblico proibido
A ausentar-se durante o expediente, sem prvia autorizao escrita do chefe imediato.
B promover manifestao de desapreo a colega no recinto da repartio.
C filiar-se a partido poltico.
D ser acionista de sociedade annima.
E sindicalizar-se.
QUESTO 48
105. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - Conforme a Lei n. 8.112/1990,
no que diz respeito s penalidades aplicveis ao servidor pblico, assinale a opo
correta.
A A inassiduidade habitual causa de demisso.
B A demisso por improbidade administrativa depende de prvia condenao judicial.
C Em qualquer situao, o servidor apenado com pena de suspenso no poder ser
obrigado a permanecer em servio.
D O servidor aposentado no est sujeito em nenhuma hiptese a pena disciplinar por
ato cometido quando estava em atividade.
E O abandono de cargo s se configura aps sessenta dias consecutivos de ausncia
intencional do servidor pblico.
106. (Tcnico Judicirio Taquigrafia TJDFT/2003) - A respeito da responsabilidade
do servidor pblico, segundo a Lei n. 8.112/1990, assinale a opo correta.
A O servidor somente responder perante a administrao pblica por seus atos
danosos no caso de cometimento de crime.
B A obrigao de reparar o dano causado pelo servidor pblico no se estende aos
seus sucessores.
C A responsabilidade civil do servidor decorre apenas de seus atos dolosos.
D As sanes civis, penais e administrativas a que se sujeita o servidor no podero
ser cumuladas.
E Tratando-se de dano causado a terceiro indenizado pela Unio, o servidor pblico
culpado responde perante a administrao em ao regressiva.
107. (Tcnico Judicirio de 3 Entrncia TJ PE/2001) - De acordo com o texto da
Constituio da Repblica de 1988 vigente, a estabilidade dos servidores pblicos
A foi extinta pelo advento da Emenda Constitucional n. 19/1998.
B ser adquirida pelos ocupantes de empregos pblicos aps aprovao em estgio
probatrio.
C ser adquirida aps prvia aprovao em estgio probatrio de trs anos.
D somente poder ser extinta por meio de processo judicial com trnsito em julgado.
E somente foi mantida para os servidores que j eram estveis no servio pblico
antes da promulgao da Emenda n. 19/1998, ou para os que, nesse perodo,
estavam em estgio probatrio.
108. (Auxiliar Judicirio de 1 Entrncia TJ PE/2001) - Com relao aos cargos em
comisso, assinale a opo correta.
A Pressupem prvia aprovao em concurso pblico, mas permitem livre exonerao
de seus ocupantes.
B A nomeao de seus ocupantes independe de prvia aprovao em concurso pblico,
mas sua exonerao depende de processo administrativo prprio.
C A investidura depende da realizao de processo simplificado de seleo.
D Podero ser exercidos somente por ocupantes de cargos efetivos.
E Somente podero ser criados para o exerccio de atividades de chefia, direo e
assessoramento.
109. (Oficial de Justia de 1 Entrncia TJ PE/2001) - Um servidor comissionado,
sem vnculo efetivo, praticou, nas dependncias do TJPE, ato de incontinncia pblica e
conduta escandalosa. Instaurado processo administrativo disciplinar, concluiu-se pela
responsabilizao do servidor.
Nessa situao hipottica, o servidor dever ser
A exonerado do cargo em comisso.
B demitido do cargo em comisso.
C destitudo do cargo em comisso.
D cassado do cargo em comisso.
E suspenso por perodo no-superior a noventa dias.
110. (Assistente Judicirio de 1 Entrncia TJ PE/2001) - O lugar que o servidor
ocupa na organizao do servio pblico, com denominao prpria, responsabilidade e
obrigaes especficas, assim como pela respectiva remunerao, corresponde ao
conceito de
A funo pblica.
B cargo em comisso.
C cargo pblico.
D lotao
E carreira
111. (Assistente Judicirio de 2 Entrncia TJ PE/2001) - Mara foi convidada e
designada para exercer funo de confiana na administrao do TJPE. Acerca dessa
hiptese e do tratamento que a Constituio da Repblica dispensa s funes de
confiana, assinale a opo correta.
A A designao de Mara para exercer a funo depender de prvia aprovao em
processo de seleo simplificada.
B Mara somente poder ser designada para exercer a funo de confiana se ocupar
cargo efetivo na administrao pblica.
C O afastamento de Mara da funo depender de processo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.
D Mara somente poder ser destituda da funo mediante processo judicial especfico.
E Mara somente poder ser afastada da funo de confiana a pedido.
112. (Assistente Judicirio de 3 Entrncia TJ PE/2001) - Joo, na condio de
ocupante de cargo efetivo, e Jos, comissionado sem vnculo efetivo com a
administrao, cometeram, no exerccio de suas atribuies, ato de improbidade
administrativa.
Nessa situao hipottica, deve-se aplicar a pena de
A demisso a ambos.
B destituio a ambos.
C exonerao a ambos.
D demisso a Joo e de destituio a Jos.
E demisso a Joo e de exonerao a Jos.
113. (Assistente Judicirio de 3 Entrncia TJ PE/2001) - Pedro, ocupante do cargo
de oficial de justia de 1. entrncia do TJPE, onde j havia adquirido estabilidade, foi
aprovado em concurso pblico para o cargo de tcnico judicirio da 3. entrncia no
prprio TJPE.
Em face dessa situao hipottica, assinale a opo correta.
A Pedro dever submeter-se a estgio probatrio e, se for reprovado no estgio,
dever ser reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente.
B Pedro dever submeter-se a estgio probatrio e, se for reprovado no estgio,
dever ser reintegrado no cargo que anteriormente ocupava.
C Pedro dever submeter-se a estgio probatrio e, se for reprovado no estgio,
dever ser exonerado do servio pblico.
D Pedro, sendo estvel, no mais precisar submeter-se a novo estgio probatrio.
E Se Pedro tivesse concludo curso superior no exerccio do cargo em que ocupava, no
precisaria prestar concurso para cargo de nvel superior, haja vista ter direito
ascenso funcional.
114. (ficial de Justia TJ RR/2001) - Em cada uma das opes abaixo, apresentada
uma situao hipottica a respeito de provimento, vacncia, remoo e substituio,
seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opo cuja assertiva esteja correta.
A Sebastio foi nomeado para o cargo em comisso de assessor jurdico de
desembargador do Tribunal de Justia de Roraima (TJRR). Nesse caso, o provimento
do cargo de assessor foi derivado.
B Juarez, promotor de justia, foi promovido por antiguidade para o cargo de
procurador de justia do MPRR. Nesse caso, o provimento do cargo de procurador de
justia foi inicial ou originrio.
C Pedro, aps responder a processo administrativo disciplinar por improbidade
administrativa, foi demitido do cargo efetivo de tesoureiro. Nesse caso, no haver
vacncia do cargo de tesoureiro.
D Mariana, que exerce o cargo de secretria na comarca de Bonfim, requereu o seu
deslocamento para a comarca de Boa Vista, no mbito do mesmo quadro permanente
de servidores do Poder Judicirio. Nesse caso, se o pleito for deferido, haver a
remoo da servidora.
E Sebastiana est investida no cargo de assistente administrativo e, de acordo com o
regimento interno da Secretaria da Educao, substituta de Anita, chefe da diviso
de recursos humanos (DRH). Anita est grvida e entrou em gozo de licena
gestante, tendo Sebastiana assumido o exerccio do cargo de chefe do DRH pelo
perodo de 120 dias. Nesse caso, Sebastiana, mesmo substituindo Anita pelo perodo
de cento e vinte dias, continuar percebendo apenas a remunerao do cargo de que
titular, ou seja, de assistente administrativo.
115 (Escrivo - TJ RR/2001) - Servidores pblicos so somente aqueles sujeitos ao
regime estatutrio e ocupantes de cargos pblicos, sendo que os celetistas e os
servidores temporrios so considerados funcionrios pblicos, conforme distino
moderna adotada pela Constituio da Repblica.
116. (Escrivo - TJ RR/2001) - O servidor pblico aprovado em concurso de provas e
ttulos alcanar a estabilidade no servio pblico aps dois anos de efetivo exerccio.
117 (Tcnico Judicirio rea Administrativa TRT 6 Regio/2002) - A investidura
em cargo ou emprego pblico depende de aprovao em concurso pblico, sendo
vedado lei o estabelecimento de limite de idade.
118 (Analista judicirio rea Judiciria TRT 6 regio/2002) - Conquanto a
remunerao dos servidores pblicos federais deva ser fixada por lei, observada a
iniciativa privativa em cada caso, no h direito reviso geral anual, pois o regime
estatutrio submete os servidores vontade unilateral da Unio, que tem
discricionariedade nessa matria.
119 (Analista Judicirio rea Administrativa TST/2003) Considere a seguinte
situao hipottica. Mrcia, servidora pblica titular de cargo efetivo federal, exerce
suas atribuies em repartio localizada em Pelotas RS. Lus, seu marido, servidor
do Poder Executivo do governo do estado do Rio Grande do Sul, foi deslocado, no
interesse da administrao, para trabalhar no escritrio de representao mantido na
capital federal.
Nessa situao, Mrcia no tem direito remoo a pedido, haja vista seu esposo
pertencer a outra esfera de governo.
120 (Analista Judicirio rea Administrativa TST/2003) Considere a seguinte
situao hipottica. Em determinada repartio federal, foi aberta sindicncia com
vistas a apurar autoria e materialidade acerca de diversas irregularidades cometidas no
setor. Durante a sindicncia e a pedido da comisso, a autoridade instauradora, por
medida cautelar, afastou do exerccio do cargo, por trinta dias, o servidor Osvaldo,
sem prejuzo de sua remunerao, prazo previsto para a concluso da sindicncia, a
fim de que este no influsse na apurao dos fatos.
Nessa situao, o afastamento era previsto e poderia ser prorrogado por igual prazo,
findo o qual cessariam seus efeitos, ainda que no estivesse concluda a sindicncia.
121 (Analista Judicirio rea Administrativa TST/2003) No h necessidade de se
comprovar m-f do servidor na acumulao ilegal de cargos, se a ele foi dada
oportunidade para exercer o direito de opo por um dos cargos e ele se omitiu.
122 (Analista Judicirio rea Administrativa TST/2003) Considere a seguinte
situao hipottica. Carlos servidor pblico titular de cargo efetivo federal e exerce
suas atribuies em rgo localizado em Braslia DF. Toda a sua famlia, entretanto,
tem domiclio em Palmas TO, situao que o estimulou a candidatar-se a deputado
estadual desse estado. Aps sua escolha na conveno partidria, requereu licena
sem remunerao e, por fim, foi eleito com votao expressiva.
Nessa situao e de acordo com o regime jurdico do servidor pblico federal, Carlos
ter direito a ajuda de custo destinada a compensar despesas de transporte e
instalao aps a diplomao.
123 (Tcnico Judicirio rea Administrativa TST/2003) - Com relao aos agentes
administrativos, julgue os itens seguintes.
01 Considere a seguinte situao hipottica. Alda, servidora pblica titular de cargo
efetivo federal lotada no municpio de Aracaju SE, no interesse da administrao, foi
removida e passou a ter exerccio de suas atribuies na capital federal.
Nessa situao, Alda ter direito a uma indenizao denominada ajuda de custo,
destinada a compensar as despesas de instalao do servidor que teve o domiclio
alterado em carter permanente.
02 Considere a seguinte situao hipottica. Beatriz exerce o cargo de agente
administrativo de uma autarquia federal e, recentemente, foi aprovada em concurso
para o cargo de professora da Secretaria de Educao do estado de Mato Grosso do
Sul.
Nessa situao, caso haja compatibilidade dos horrios e a remunerao no exceda o
subsdio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Beatriz poder, aps ser
nomeada, tomar posse e entrar em exerccio, acumulando os dois cargos.
03 A responsabilidade civil do servidor decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou
culposo, que resulte em prejuzo ao errio ou a terceiros. A obrigao de reparar o
dano estende-se aos sucessores e contra eles ser executada, at o limite do valor da
herana.
04 Para a investidura em cargos ou empregos pblicos preciso a aprovao prvia
em concurso pblico de provas ou de provas e ttulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.
05 Considere a seguinte situao hipottica. Eduardo foi servidor pblico titular de
cargo efetivo federal, tendo sido exonerado por no ter satisfeito as condies do
estgio probatrio, de acordo com a avaliao de desempenho realizada pela comisso
responsvel.
Nessa situao, se for apurado em processo administrativo disciplinar posterior
exonerao, assegurada a ampla defesa e o contraditrio, que Eduardo, durante o
exerccio, participou de gerncia e administrao de empresa privada, o ato de
exonerao ser convertido em demisso.
124 (Analista Judicirio rea Judiciria TST/2003) - Em cada um dos itens
seguintes, apresentada uma situao hipottica, relativa aos agentes
administrativos, seguida de uma assertiva a ser julgada.
01 Srgio, aps aprovao em concurso pblico e quatro anos de espera, foi nomeado
para o cargo de agente administrativo em determinado rgo federal. Com 22 meses
de efetivo exerccio, houve uma reforma administrativa e o referido cargo foi extinto.
Nessa situao, Srgio ser posto em disponibilidade, com remunerao proporcional
ao tempo de servio, at que seja aproveitado em outro cargo cujas atribuies e
vencimentos sejam compatveis com os do cargo anteriormente ocupado.
02 Em determinada repartio federal, foi aberta sindicncia para apurar indcios de
autoria e materialidade de diversas irregularidades. A comisso de sindicncia, em
razo de os fatos apurados cominarem suspenso superior a trinta dias, concluiu pela
instaurao de processo disciplinar que envolvia os servidores Jorge, Osvaldo e
Eduardo. Indignados, esses servidores questionaram veementemente o resultado do
procedimento pelo fato de no terem sido ouvidos at aquele momento.
Nessa situao, no assiste razo aos servidores, pois a sindicncia medida
preparatria para o processo administrativo, no se observando, nessa fase, dado o
seu carter inquisitivo, o princpio da ampla defesa.
03 Mrcio, servidor titular de cargo efetivo federal, atualmente est lotado em uma
repartio localizada em Garanhuns PE. Toda a sua famlia reside em Braslia DF.
Por essa razo, Mrcio manifestou coordenao de recursos humanos (RH) do rgo
de seu exerccio o interesse em ser removido para a capital federal. De acordo com os
arquivos do RH, existia uma vaga disponvel em Braslia e outros 25 servidores j
haviam manifestado o mesmo interesse de Mrcio.
Nessa situao e de acordo com o regime jurdico vigente para a administrao pblica
federal, o setor de RH dever promover a remoo do servidor que manifestou
interesse, expressamente, h mais tempo.
125 (Analista Judicirio rea Judiciria TST/2003) - Ainda em relao aos agentes
administrativos, julgue os itens subseqentes.
01 Um mdico, em face do permissivo constitucional, pode acumular os cargos de
mdico-perito do Instituto Nacional do Seguro Social e o de mdico nos prontos-
socorros do Hospital das Foras Armadas e do Hospital de Base, sendo este
subordinado Secretaria de Sade do Distrito Federal.
02 No obstante as instncias administrativa e penal serem independentes, na
hiptese de a infrao disciplinar constituir crime, no se aplicam, respectivamente, os
prazos de prescrio qinqenal, bienal ou de 180 dias s infraes punveis com
demisso, suspenso ou advertncia. Adotam-se, nesses casos, os prazos
prescricionais estabelecidos na lei penal.
126. (Auditor Fiscal INSS/200) - Uma lei que extingue gratificaes e adicionais, mas
eleva o vencimento-base do cargo, no afronta a garantia da irredutibilidade de
vencimentos, se no houver decesso no quantitativo total da remunerao dos
servidores.
127. (Auditor Fiscal INSS/200) - O servidor, antes de completar trs anos de servio
pblico, pode ser demitido, independentemente de procedimento administrativo que
lhe assegure a ampla defesa e o contraditrio. Demisso a mais alta pena que se
aplica ao funcionrio. Nunca pode ser feita sem procedimento administrativo
disciplinar.
128. (Auditor Fiscal INSS/200) - Considere que um servidor tenha cometido falta
administrativa, ocasionando dano financeiro para a administrao. Nessa situao, o
servidor no poder sofrer sano administrativa nem ele poder ser cobrada a
reparao pelo prejuzo causado ao errio se o prazo de prescrio relativamente
punio de tal ilcito estiver vencido.
129. (Fiscal de Contribuies Previdencirias INSS/1997) - Com relao aos servios
pblicos, julgue os itens que se seguem.
1. A nacionalidade brasileira, a idade mnima e dezesseis anos e a aptido fsica e
mental so alguns requisitos bsicos para a investidura em cargo pblico.
2. A feio hierarquizada da administrao pblica impe que o servidor cumpra as
ordens superiores, mesmo que manifestamente ilegais.
3. servidor pblico pode atuar, em reparties pblicas, como procurador ou
intermedirio de cnjuge, quando se tratar de benefcio previdencirio.
4. exerccio irregular das atribuies do cargo pode acarretar responsabilidade civil e
administrativa do servidor pblico.
5. A lei impe expressamente os seguintes deveres ao servidor pblico; sigilo acerca
de assuntos da repartio, conservao do patrimnio pblico e lealdade
instituio.
130. (Fiscal de Contribuies Previdencirias INSS/1997) - Ainda a respeito do
servidor pblico, julgue os itens abaixo.
1. princpio da no-cumulatividade das sanes, aplicvel aos servidores pblicos,
significa que a imposio de sano penal por cometimento de crime praticado por
servidor pblico, na qualidade de agente administrativo, afasta a responsabilidade
administrativa.
2. Absolvido o servidor pblico de imputao de cometimento de crime, por negativa
da existncia do fato ou por negativa de autoria, afastada estar a
responsabilidade administrativa.
3. No processo administrativo disciplinar, nunca h oportunidade de prova
testemunhal, pois, sendo a atividade administrativa formal, todo o ato
administrativo irregular provar-se- sempre mediante documento.
4. A conjugao dos princpios da verdade material e da legalidade, aplicveis ao
processo administrativo, pode, excepcionalmente, afastar a audincia do
interessado, mas nunca o acesso ao Judicirio.
5. Aps dois anos de efetivo exerccio, o servidor pblico nomeado em virtude de
aprovao em aprovao em concurso pblico torna-se estvel, s perdendo o
cargo, a partir de ento, em razo de sentena judicial transitada em julgado.
131. (Fiscal de Contribuies Previdencirias INSS/1998) - A Lei n.
o
8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que dispes sobre o Regime Jurdico nico (RJU) dos servidores
pblicos civis federais, sofreu diversas e profundas alteraes com a converso da
Medida Provisria n.
o
1.573, e suas diversas reedies, na Lei n.
o
9.527, de 10 de
dezembro de 1997. Acerca dessas alteraes, julgue os itens abaixo.
1. Apenas os servidores da Unio e das autarquias federais passam a ser regidos pelo
RJU; os empregados de empresas pblicas, sociedades de economia mista e
fundaes pblicas sero regidos pelo regime celetista.
2. A ascenso e o acesso, que j haviam sido declarados inconstitucionais pelo STF,
foram excludos do RJU.
3. Da data da posse, o servidor dever entrar em exerccio no prazo de quinze dias,
improrrogveis.
4. O estgio probatrio para servidor nomeado para cargo de provimento efetivo passa
a ser de trinta meses.
5. Passa a ser admitida a demisso de servidor estvel em decorrncia de nmero
excessivo de servidores.
132. (Fiscal de Contribuies Previdencirias INSS/1998) - Joo da Silva ocupava o
cargo de procurador autrquico do INSS. Em face das profundas alteraes que a
Constituio Federal tem sofrido no captulo concernente administrao pblica, Joo
requereu, e foi-lhe deferida, a concesso de aposentadoria proporcional. Insatisfeito
com sua nova situao de aposentado, Joo prestou novo concurso para o cargo de
fiscal de contribuies previdencirias do INSS. Considerando as regras constantes na
legislao pertinente e a orientao jurisprudencial firmada pelo STF sobre acumulao
e cargos, julgue os seguintes itens.
1. A acumulao dos proventos do cargo de procurador com os vencimentos do cargo
de fiscal ser considerada indevida.
2. Qualquer acumulao de cargo, emprego ou funo pblicos ser tida como
inconstitucional. Essa impossibilidade total de acumulao de cargos na atividade
estende-se acumulao na inatividade.
3. Independentemente da discusso acerca da acumulao dos cargos, Joo,
empossado no novo cargo, ter de cumprir novo estgio probatrio e, caso no o
cumpra, ser demitido.
4. Caso Joo renunciasse ao provento de aposentadoria, ainda assim seria reputada
ilcita a acumulao de cargos de procurador e fiscal do INSS.
5. Caso o servidor tivesse pedido exonerao, e no a sua aposentadoria, do cargo de
procurardor, no qual j havia adquirido a estabilidade, e fosse empossado no cargo
de fiscal, no teria de se submeter a novo estgio probatrio.
133 (Defensor Pblico de 4 Classe Amazonas/2003) - Acerca da disciplina que rege
os concursos pblicos, julgue os itens a seguir.
01 Seria inconstitucional uma lei que estabelecesse que determinados cargos em
comisso seriam providos mediante concurso pblico.
02 De acordo com a jurisprudncia do STF, um candidato aprovado dentro do nmero
de vagas previsto no edital de um concurso pblico tem direito subjetivo pblico a ser
nomeado durante o prazo do concurso.
03 A Constituio da Repblica determina que os cargos e empregos pblicos so
acessveis apenas aos brasileiros e, portanto, seria inconstitucional um ato
administrativo que admitisse a inscrio de um estrangeiro para a realizao de um
concurso pblico no Brasil.
134 (Defensor Pblico de 4 Classe Amazonas/2003) - Considerando que Reinaldo foi
nomeado para o cargo de defensor pblico do estado do Amazonas, julgue os itens
subseqentes.
01 O ato de nomeao de Reinaldo no vinculado, mas discricionrio.
02 O ato de nomeao de Reinaldo no pode ser revogado pela administrao pblica.
03 Aps ser nomeado, e antes de entrar em exerccio, Reinaldo deve assinar o termo
de posse, que um contrato administrativo de adeso em que so definidas as regras
que regero a prestao das atividades legalmente definidas para o seu cargo.
04 A partir da data de sua posse, Reinaldo tem responsabilidade civil objetiva pelos
atos que praticar no estrito cumprimento de seus deveres funcionais.
135 (Defensor Pblico de 4 Classe Amazonas/2003) - A Constituio da Repblica
limita a remunerao mediante subsdio a membros de poder, a detentores de
mandato eletivo, a ministros de Estado e a secretrios estaduais e municipais, motivo
pelo qual seria inconstitucional lei complementar estadual que fixasse remunerao por
subsdio para os defensores pblicos do estado do Amazonas.
136 (Defensor Pblico de 4 Classe Amazonas/2003) - Se um servidor solicitar
regularmente sua exonerao, o ato administrativo que o exonerar ser vinculado e
no discricionrio.
137 (Juiz Substituto TJBA/2002) A remunerao dos servidores pblicos deve ser
fixada por lei e no em atos administrativos, mesmo que de carter normativo, ou por
outra espcie qualquer de ato normativo de carter infralegal; porm, como o
entendimento predominante no direito brasileiro o de que o servidor pblico no tem
direito adquirido a regime jurdico, a lei nova pode alterar livremente a remunerao
desses agentes pblicos.
138. (Promotor de Justia Substituto MPRR/2001) - A despeito de divergncias
terminolgicas e formais, juridicamente correto afirmar que, do ponto de vista do
direito administrativo positivo, so substancialmente equivalentes os regimes jurdicos
aplicveis aos agentes pblicos ocupantes de cargos e de empregos pblicos.
139. (Advogado da unio/Nov 2002) - Um rgo da administrao direta federal
publicou edital de concurso pblico para preenchimento de cargos pblicos de agente
de segurana e de tcnico em informtica, exigindo dos candidatos a ambos os cargos
altura mnima de 1,65 m e idade inferior ou igual a 35 anos. Alm disso, para os
candidatos ao cargo de agente de segurana, exigiu diploma de curso superior em
direito, enquanto, para os de tcnico em informtica, diplomao em programao de
computadores. Previu ainda o edital critrios de concorrncia em carter regional, de
maneira que a ordem de classificao dos candidatos seria efetuada de acordo com a
opo de regio territorial que fizessem. Alguns candidatos, inconformados com os
termos do edital, interpuseram contra este ao direta de inconstitucionalidade (ADIn),
enquanto outros entraram com mandado de segurana, visando impugnar requisitos
constantes no edital.
Acerca da situao hipottica acima descrita, bem como da jurisprudncia, da doutrina
e da legislao pertinentes, julgue os itens que se seguem.
01 Por no haver motivos para indeferimento liminar do pedido de ADIn, o STF,
seguindo sua linha jurisprudencial, dever julgar a ADIn, declarando a
inconstitucionalidade do edital do concurso, tendo em vista as diversas ofensas ao
texto constitucional nele contidas.
02 Para provimento de qualquer cargo pblico, a exigncia de altura mnima, nos
termos da jurisprudncia do STF, considerada ofensa aos princpios constitucionais
da isonomia e da razoabilidade.
03 A fixao de limite de idade em concurso pblico tem sido aceita pela jurisprudncia
do STF, desde que se mostre compatvel com o conjunto de atribuies inerentes ao
cargo a ser preenchido e seja estabelecido em lei.
04 A jurisprudncia do STF tem por vlida a fixao de critrios de concorrncia em
carter regional em editais de concurso pblico, de maneira que, se essa linha de
entendimento for seguida, a impugnao a essa exigncia editalcia no encontrar
amparo no Poder Judicirio.
05 A exigncia de diplomao em direito para provimento do cargo de agente de
segurana pode implicar sria ofensa aos princpios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, aplicveis administrao pblica.
140 (Procurador MP TCDF/2002) - Est em harmonia com o regime jurdico dos
servidores pblicos a
01 acumulao de dois cargos de enfermeiro, desde que haja compatibilidade de
horrios.
02 vedao de vinculao de vencimentos para fins de pagamento de vantagens
funcionais.
03 isonomia absoluta e com eficcia plena de ativos e inativos.
04 ilegitimidade do veto a candidatos quando embasado em avaliao da sade
psicolgica a partir de exame restrito a uma entrevista privativa.
05 plena liberdade na reestruturao remuneratria dos cargos, sem violao
garantia constitucional dos direitos adquiridos, desde que observada a vedao de
decesso remuneratrio.
141. (Agente da polcia Federa/1997) - Acerca do Regime Jurdico nico dos
Servidores Civis da Unio (RJU), institudo com a Lei n. 8.1 12, de 11 de dezembro de
1990, julgue os seguintes itens.
1) penas o cidado, pessoalmente, pode tomar posse em cargo pblico, sendo vedada
a posse por procurao.
2) indivduo considerado mentalmente inapto no pode, pela lei, tomar posse em cargo
pblico.
3) Aps a posse, o servidor ter at sessenta dias para entrar em exerccio.
4) Sempre que o servidor for transferido removido, redistribudo, requisitado ou
cedido, devendo, em razo disso, ter exerccio outra sede, dever iniciar o trabalho
imediatamente aps o perodo estritamente necessrio ao deslocamento para a nova
localidade.
5) O ocupante de cargo em comisso tem o dever de trabalhar unicamente at o
mximo de quarenta horas semanais, ressalvado o disposto em lei especial.
142. (Agente da polcia Federa/1997) - Lcio foi aprovado em concurso pblico para o
cargo de Agente de Polcia Federal. Tomou posse e, no prazo legal, entrou em
exerccio. Durante o estgio probatrio, verificou-se que Lcio infringiu,
sistematicamente, o dever de assiduidade, o que foi apurado na avaliao final desse
perodo. Considerando esse quadro e luz da Lei n 8.1 12/90, julgue os itens que se
seguem.
1) Ao cabo do estgio probatrio, Lcio poder ser exonerado, em razo da
infringncia ao dever legal de assiduidade.
2) Se Lcio fosse servidor estvel da administrao pblica federal antes da posse no
novo cargo, no seria afastado do servio pblico devido reprovao no estgio
probatrio. Nesse caso, seria reconduzido ao cargo que anteriormente ocupava.
3) O perodo de avaliao conhecido como estgio probatrio dura, no mximo, trinta
meses.
4) Caso Lcio adquirisse estabilidade no novo cargo, s mediante sentena judicial
poderia perd-lo.
5) A indisciplina, a falta de iniciativa, a deficincia de produtividade e a ausncia de
responsabilidade so causas que podem levar o servidor reprovao no estgio
probatrio.
143. (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) -No incio do
corrente ano, determinada entidade, constituda sob a forma de uma autarquia federal
que presta servio no- essencial ou monopolizado pelo Estado, realizou concurso
pblico e contratou servidores em regime celetista, ou seja, no mais no regime
jurdico nico.
Em face dessa situao hipottica e do tema a ela pertinente, julgue os seguintes
itens.
01 O concurso no poder ser impugnado, pois h permisso para a administrao
pblica contratar sob o regime da CLT.
02 O referido concurso regular, pois recente alterao no texto constitucional no faz
mais nenhuma remisso ao Regime Jurdico nico.
03 Desde a Constituio da Repblica de 1988, a referida entidade, por ser uma
autarquia, j poderia realizar concurso e contratar fora do regime jurdico nico.
04 Configurando- se como cargo pblico, o servidor pblico no poder ser exonerado
ainda que por excesso de despesa com gastos de pessoal, depois de passado o perodo
de estgio probatrio.
05 O regime estatutrio atende peculiaridades de um vnculo no qual esto em causa
interesses pblicos e no s interesses laborais, por isso aqueles que desenvolvem
atividades exclusivas do Estado s podem ser recrutados nesse regime.
144. (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) -Julgue os
seguintes itens, relativos ao regime dos servidores pblicos.
01 O vnculo dos agentes polticos com o Estado no de natureza profissional, pois o
que os qualifica para o exerccio das funes no a aptido tcnica, mas a qualidade
de cidado.
02 Servidores pblicos so os que, integrados em cargos ou empregos, mantm com o
Estado e com as pessoas jurdicas de direito pblico da administrao indireta vnculos
de trabalho profissional.
03 As empresas pblicas adotam necessariamente o regime trabalhista, havendo nelas
somente cargos pblicos, e no empregos.
04 Quanto natureza jurdica dos cargos e empregos pblicos tem- se que, naqueles,
estatutrios, as vantagens no se incorporam ao patrimnio do servidor, como o
caso destes, em que ocorre relao contratual.
05 As garantias dos servidores estatutrios no coibem a corrupo.
QUESTO 55
145 (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) - O servidor pblico
civil a pessoa legalmente investida em cargo pblico, que por sua vez o conjunto
de atribuies e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser
cometidas a um servidor.
146 (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) - A lei de
responsabilidade fiscal, ao estabelecer um prazo para que seja gradualmente eliminado
o excesso de despesa com pessoal, elimina a estabilidade na administrao pblica.
147 (Analista legislativo rea VIII Cmara dos Deputados/2002) - Os servidores
estveis que perderem o cargo em razo das normas de conteno de despesa faro
jus a indenizao.
148 (Analista Judicirio Atividade Processual TJDFT/2003) - A apurao de
irregularidades no servio pblico ter de ser feita, obrigatoriamente, pela autoridade
que tomar conhecimento do fato e dever ser realizada imediatamente, por meio de
sindicncia, inqurito administrativo ou processo administrativo disciplinar, conforme a
gravidade do fato mensurada pela aplicao, em tese, da penalidade cabvel.
Gabarito:
1. E
2. E
3. C
4. E
5. C
6. E
7. C
8. C
9. E
10. C
11. E
12. E
13. E
14. C
15. C
16. E
17. E
18. C
19. C
20. E
21. E
22. E
23. C
24. E
25. C
26. E
27. E
28. C
29. E
30. E
31. C
32. E
33. E
34. E
35. E
36. E
37. C
38. E
39. C
40. C
41. C
42. E
43. E
44. E
45. C
46. E
47. E
48. E
49. E
50. E
51. E
52. C
53. C
54. E
55. E
56. C
57. E
58. C
59. E
60. C
61. C
62. E
63.C
64. C
65. C
66. C
67. E
68. E
69. E
70. E
71. E
72. B
73. D
74. E
75. C
76. A
77. C
78. E
79. C
80. C
81. E
82. CEECE
83. B
84. E
85. B
86. D
87. C
88. A
89. D
90. D
91. E
92. B
93. A
94. C
95. A
96. D
97. C
98. E
99. B
100. D
101. C
102. B
103. D
104. B
105. A
106. E
107. C
108. E
109. C
110. C
111. B
112. A
113. A
114. D
115. E
116. E
117. E
118. E
119. E
120. E
121. C
122. C
123. ECCEC
124. ECE
125. EC
126. C
127. E
128. E
129. CECCE
130. ECEEE
131. ECCEE
132. CEEEE
133. C*E
134. CCEE
135. E
136. C
137. E
138. E
139. EECCC
140. CECCC
141. ECEEE
142. CCEEC
143. CCEEC
144. CCECC
145. C
146. E
147. C
148. E
Você também pode gostar
- Resumo de Direito Tributário - NayaneDocumento7 páginasResumo de Direito Tributário - NayaneRonaldAinda não há avaliações
- Elementos de Direito Administrativo Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Afrânio de SáNo EverandElementos de Direito Administrativo Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Afrânio de SáAinda não há avaliações
- Estatutos Da OJM FinalDocumento37 páginasEstatutos Da OJM Finaljob joao manga100% (5)
- Resumão Lei 8.429/92 - Improbidade AdministrativaNo EverandResumão Lei 8.429/92 - Improbidade AdministrativaAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Geopolitica Classica Mahan Mackinder Spykman OsDocumento583 páginasFundamentos Da Geopolitica Classica Mahan Mackinder Spykman OsJuan Retana Jimenez100% (1)
- Resumo - DIREITO ADMINISTRATIVO EaduvvDocumento112 páginasResumo - DIREITO ADMINISTRATIVO EaduvvDeise ConceiçãoAinda não há avaliações
- 1.responsabilidade Tributária IDocumento11 páginas1.responsabilidade Tributária ISamuel RamonAinda não há avaliações
- Questões de Direito Administrativo Respondidas PDFDocumento9 páginasQuestões de Direito Administrativo Respondidas PDFSimone SantosAinda não há avaliações
- Direito Administrativo (como Estudar E Passar!)No EverandDireito Administrativo (como Estudar E Passar!)Ainda não há avaliações
- Aula 11 Afo Iniciantes-ResumoDocumento2 páginasAula 11 Afo Iniciantes-ResumoMarcos MeloAinda não há avaliações
- Direitos Humanos - Teoria GeralDocumento9 páginasDireitos Humanos - Teoria GeralBruno dos SantosAinda não há avaliações
- Princípios Fundamentais - ResumoDocumento2 páginasPrincípios Fundamentais - ResumoLeontinos Górgias100% (1)
- Apostila Direito Administrativo, Constitucional, Processual Civil E Processual PenalNo EverandApostila Direito Administrativo, Constitucional, Processual Civil E Processual PenalAinda não há avaliações
- Direito Processual Penal - Oab 1ª Fase: Gabaritando O Exame Com Foco Na Letra Da LeiNo EverandDireito Processual Penal - Oab 1ª Fase: Gabaritando O Exame Com Foco Na Letra Da LeiAinda não há avaliações
- AULA 06 - Serviços PúblicosDocumento61 páginasAULA 06 - Serviços PúblicosmarcelaAinda não há avaliações
- Manual de DIreitos FundamentaisDocumento76 páginasManual de DIreitos FundamentaisCastigo Benjamim67% (3)
- 4 - Poderes AdministrativosDocumento27 páginas4 - Poderes AdministrativosRobson100% (1)
- Direito Penal: Apostilas para Concursos Públicos, #1No EverandDireito Penal: Apostilas para Concursos Públicos, #1Ainda não há avaliações
- Direito AdministrativoDocumento18 páginasDireito AdministrativoraulAinda não há avaliações
- Aula 02 Principios Do Direito Do TrabalhoDocumento12 páginasAula 02 Principios Do Direito Do TrabalhoBriel SousaAinda não há avaliações
- Foca No Resumo Responsabilidade Civil Do Estado1 PDFDocumento12 páginasFoca No Resumo Responsabilidade Civil Do Estado1 PDFHILDAAinda não há avaliações
- CERS Book - Direito Administrativo - ResponsabilidDocumento82 páginasCERS Book - Direito Administrativo - ResponsabilidRondinelle BezerraAinda não há avaliações
- Resumo - LINDB - Direito CivilDocumento5 páginasResumo - LINDB - Direito CivilEstudando LegisAinda não há avaliações
- 07 Nocoes de Direito AdministrativoDocumento92 páginas07 Nocoes de Direito AdministrativoLucas BorgesAinda não há avaliações
- Administração PúblicaDocumento142 páginasAdministração PúblicaAyslan RodrigoAinda não há avaliações
- 1 DiaDocumento13 páginas1 DiaGabriel Ribeiro100% (1)
- Questões de Direito AdministrativoDocumento2 páginasQuestões de Direito AdministrativoThiago Dias100% (1)
- Direito Constitucional - Podere Legislativo - EstratégiaDocumento140 páginasDireito Constitucional - Podere Legislativo - EstratégiaWesley JohannesAinda não há avaliações
- Direito Penal 950 Questoes Gabaritadas 2017 AlfaconpdfDocumento96 páginasDireito Penal 950 Questoes Gabaritadas 2017 AlfaconpdfAndré Luis Ribeiro CalouroAinda não há avaliações
- 5 Organização Administrativa - Administração Direta e Indireta - Centralizada e Descentralizada - Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia MistaDocumento11 páginas5 Organização Administrativa - Administração Direta e Indireta - Centralizada e Descentralizada - Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia MistascarpinclauAinda não há avaliações
- Aula 2 - Teoria Geral Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Luciano DutraDocumento70 páginasAula 2 - Teoria Geral Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Luciano DutraLayara FabrynaAinda não há avaliações
- #Curso de Direito Tributário Completo (2017) - Leandro Paulsen PDFDocumento88 páginas#Curso de Direito Tributário Completo (2017) - Leandro Paulsen PDFFlavia TerezaAinda não há avaliações
- Questões DiscursivasDocumento4 páginasQuestões DiscursivasPedro GenovevoAinda não há avaliações
- 08 PDFDocumento71 páginas08 PDFBruno SoteroAinda não há avaliações
- Aula 04 - Direito Processual CivilDocumento68 páginasAula 04 - Direito Processual CivilCintia MarquesAinda não há avaliações
- SABATINA Administrativo PDFDocumento16 páginasSABATINA Administrativo PDFAngelica SantosAinda não há avaliações
- Webjur - Direito AdministrativoDocumento63 páginasWebjur - Direito AdministrativoRaíssa De Oliveira Fabiano75% (4)
- Curso Completo Do Ivan LucasDocumento96 páginasCurso Completo Do Ivan Lucashikarishizuma100% (1)
- Dir Obrigações - Pablo StolzeDocumento29 páginasDir Obrigações - Pablo StolzeYara FhyamaAinda não há avaliações
- Ética e Função PublicaDocumento1 páginaÉtica e Função PublicaSamiles CerAinda não há avaliações
- Direito Administrativo RevisãoDocumento34 páginasDireito Administrativo RevisãoSd jurisadv - Sandra DobjenskiAinda não há avaliações
- Direito Penal Especial - Crimes Contra Administração Pública I PDFDocumento39 páginasDireito Penal Especial - Crimes Contra Administração Pública I PDFJose De Ribamar da SilvaAinda não há avaliações
- Apostila Completa de Direito Administrativo - MPUDocumento276 páginasApostila Completa de Direito Administrativo - MPUMarcos ShimbikaAinda não há avaliações
- Curso Completo de Direito AdministrativoDocumento166 páginasCurso Completo de Direito AdministrativoneypsampaioAinda não há avaliações
- Aula 5 - Atos AdministrativosDocumento7 páginasAula 5 - Atos AdministrativosGabrielAinda não há avaliações
- Agente Públicos - Thallius MoraesDocumento18 páginasAgente Públicos - Thallius MoraesYasmin Leal100% (1)
- Direito AdministrativoDocumento39 páginasDireito AdministrativoloassisAinda não há avaliações
- Capítulo 2 - Noções de Direito Constitucional e Direitos HumanosDocumento10 páginasCapítulo 2 - Noções de Direito Constitucional e Direitos HumanosOzélio JuniorAinda não há avaliações
- Direitos e Garantias Fundamentais - Teoria GeralDocumento23 páginasDireitos e Garantias Fundamentais - Teoria Geraltsiunicespe100% (5)
- Caderno de Questões Direito AdministrativoDocumento25 páginasCaderno de Questões Direito Administrativocarlos cambuiAinda não há avaliações
- E-Book - Direito Administrativo Franciele KuhlDocumento161 páginasE-Book - Direito Administrativo Franciele KuhlAna Caroline santosAinda não há avaliações
- Direito Administrativo (Resumido)Documento22 páginasDireito Administrativo (Resumido)Aline CamachoAinda não há avaliações
- Constitucional - Ordem SocialDocumento27 páginasConstitucional - Ordem SocialRogério Moraes SikoraAinda não há avaliações
- Questoes Direito Administrativo ComentadasDocumento11 páginasQuestoes Direito Administrativo Comentadasspriteco50% (2)
- ADMINISTRAÇÃO GERAL Aula 01Documento101 páginasADMINISTRAÇÃO GERAL Aula 01grasielegisele4861Ainda não há avaliações
- Conceito de Desenv Sustentavel Aula 00Documento58 páginasConceito de Desenv Sustentavel Aula 00Aline d'AbleAinda não há avaliações
- DIREITO ADMINISTRATIVO INSS 2014 Teoria PDFDocumento136 páginasDIREITO ADMINISTRATIVO INSS 2014 Teoria PDFsilvioflaAinda não há avaliações
- Eficácia da Coisa Julgada nas Relações Tributárias ContinuativasNo EverandEficácia da Coisa Julgada nas Relações Tributárias ContinuativasAinda não há avaliações
- Ações estratégicas do Poder Executivo no encaminhamento de sua agenda de políticas públicas ao legislativo: Medida Provisória e Projeto de LeiNo EverandAções estratégicas do Poder Executivo no encaminhamento de sua agenda de políticas públicas ao legislativo: Medida Provisória e Projeto de LeiAinda não há avaliações
- O Oficio Das Sombras. 08.11Documento9 páginasO Oficio Das Sombras. 08.11Helena RodriguesAinda não há avaliações
- Relatório Final 2022 AndréDocumento10 páginasRelatório Final 2022 AndréAndré GomesAinda não há avaliações
- Teste 2Documento3 páginasTeste 2Everton SilveiraAinda não há avaliações
- Atenção: Essa Questão Foi Anulada Pela Banca Organizadora, Servindo Apenas paraDocumento100 páginasAtenção: Essa Questão Foi Anulada Pela Banca Organizadora, Servindo Apenas paraRaquel MatosAinda não há avaliações
- DFS - A Baixa Densidade Democrática No Brasil e Sua Relação Com Conservadorismo Do Poder Judiciário Na Interpretação ConstitucionalDocumento25 páginasDFS - A Baixa Densidade Democrática No Brasil e Sua Relação Com Conservadorismo Do Poder Judiciário Na Interpretação ConstitucionalDenival SilvaAinda não há avaliações
- A Justiça de Rawls e o Pós-PositivismoDocumento30 páginasA Justiça de Rawls e o Pós-PositivismoDirceu Rodrigues JuniorAinda não há avaliações
- Currículo 118Documento5 páginasCurrículo 118Gelson GoncalvesAinda não há avaliações
- Principais Ideias Do LivroDocumento6 páginasPrincipais Ideias Do LivroRicardo ShiotaAinda não há avaliações
- Sebenta de Contencioso Administrativo: Aulas Teórico PráticasDocumento135 páginasSebenta de Contencioso Administrativo: Aulas Teórico PráticasJorge Pinto de AlmeidaAinda não há avaliações
- Apresentação Decretos Consolidados FunculturaDocumento144 páginasApresentação Decretos Consolidados FunculturaRuth MeloAinda não há avaliações
- 12.10.2023 Cad Hoc DraftdestituiçãoDocumento89 páginas12.10.2023 Cad Hoc DraftdestituiçãoJoel TecaAinda não há avaliações
- Entidades Administrativas IndependentesDocumento13 páginasEntidades Administrativas IndependentesPris CarameloohAinda não há avaliações
- Absolutismo Conceitos Gerais Lista de Exercc3adciosDocumento6 páginasAbsolutismo Conceitos Gerais Lista de Exercc3adciosProf. Rogério BrasilAinda não há avaliações
- Estado Moderno e ContemporâneoDocumento4 páginasEstado Moderno e ContemporâneoIsabela BitencourtAinda não há avaliações
- Teoria Política NAFDocumento4 páginasTeoria Política NAFAngelo Felipe Castro Varela100% (1)
- Denis Rosenfield (Auth.) - Reflexões Sobre o Direito À Propriedade-Elsevier (2008)Documento210 páginasDenis Rosenfield (Auth.) - Reflexões Sobre o Direito À Propriedade-Elsevier (2008)The Genious ManAinda não há avaliações
- Revisão Introdução Ao Estudo de Direito - DIREITO OPET - 1Documento8 páginasRevisão Introdução Ao Estudo de Direito - DIREITO OPET - 1cesarcosta_opetAinda não há avaliações
- Dia 04Documento3 páginasDia 04Giovanna MoretiAinda não há avaliações
- D2 Validação e Invalidação Dos ActosDocumento19 páginasD2 Validação e Invalidação Dos ActosBritoAinda não há avaliações
- Questões CAP 3 - Resolução - DIREITO ADM IDocumento26 páginasQuestões CAP 3 - Resolução - DIREITO ADM IYo, JAinda não há avaliações
- PNASDocumento24 páginasPNASJuliano BagatinAinda não há avaliações
- Slides de Aula - Pensamento Politico BrasileiroDocumento94 páginasSlides de Aula - Pensamento Politico BrasileiroMarcos Alexandre SalesAinda não há avaliações
- Trabalho de História - CECABDocumento4 páginasTrabalho de História - CECABTomazAinda não há avaliações
- Tabela de Ec LC Lo LD DL e MPDocumento2 páginasTabela de Ec LC Lo LD DL e MPCamila Araújo De Souza AssafAinda não há avaliações
- Evolucao Historia Do EstadoDocumento6 páginasEvolucao Historia Do EstadoOberdan LeonelAinda não há avaliações