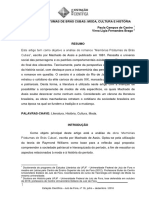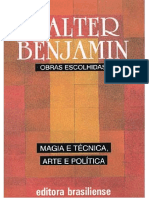Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Valladares A Genese Da Favela Carioca
Valladares A Genese Da Favela Carioca
Enviado por
Untxia GorriaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Valladares A Genese Da Favela Carioca
Valladares A Genese Da Favela Carioca
Enviado por
Untxia GorriaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A GNESE DA
FAVELA CARIOCA.
A produo anterior
s cincias sociais
*
Licia Valladares
RBCS Vol. 15 n
o
44 outubro/ 2000
Introduo
Nas discusses sobre as interpretaes do
Brasil e a identidade da cidade do Rio de Janeiro no
princpio do sculo XX, to em voga em nosso
meio acadmico, o interesse pela favela ocupa um
lugar secundrio.
1
Escreve-se muito sobre a po-
breza, mas o olhar do cientista est voltado para o
cortio, para o sanitarismo e para a reforma de
Pereira Passos. Pergunta-se que pas este?, mas
na anlise da constituio deste pas so prioriza-
das sobretudo as questes da raa e da classe
trabalhadora. Descreve-se o mercado de trabalho
urbano, mas reduzido s fbricas e ao trabalho
fabril. Fala-se de lutas e diversidades de correntes,
mas a relevncia cabe ao movimento operrio e
sindical. Discute-se associativismo e participao,
mas principalmente em relao aos partidos, ao
patronato e classe operria. As camadas popula-
res, que nas primeiras dcadas do sculo XX so
analisadas sobretudo sob o ngulo dos laos entre
cultura e poltica, quando aparecem, sob o rtulo
de povo, no cortio ou nas ruas do centro do Rio
de Janeiro, driblando sua excluso poltica por
meio de movimentos de revolta dos tipos mais
variados.
A favela, sua histria e seus moradores tm,
assim, ficado margem do interesse da grande
maioria daqueles que vm estudando hoje, seja o
pensamento social no Brasil da Primeira Repblica,
seja a cidade-capital na sua misso civilizadora e
poltica. Forma geogrfica e social considerada
quele tempo como de pouca expresso, a favela
no tem lugar, no constitui pea do jogo de cartas
da histria inicial da Repblica ou do mosaico
social do Rio de Janeiro de ento. Mas, por que
essa omisso, essa negligncia?
O objetivo deste artigo , justamente, intro-
duzir a favela no debate poltico e social do incio
* Este trabalho, na sua verso original, foi escrito durante
o perodo em que a autora era bolsista da CAPES e
realizava seu ps-doutoramento na Frana, junto ao
Laboratrio do CNRS, Cultures et Socits Urbaines
(CSU-IRESCO). O texto foi apresentado no XXII Encon-
tro Anual da Anpocs de 1998 (GT Cidade e Metropoliza-
o: Desigualdade e Governana Urbana) e alterado
para publicao nesta revista. Agradeo aos colegas do
Centre de Recherches sur le Brsil Contemporain (Mai-
son des Sciences de lHomme, Paris), da Casa de
Oswaldo Cruz e do CPDOC-FGV, que me ouviram em
seminrios realizados nessas instituies. Algumas de
suas sugestes puderam ser aqui incorporadas. Agrade-
o ainda a Maria de Lourdes Menezes, que colaborou na
edio do texto final agora publicado.
6 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
e da primeira metade do sculo, mostrando
seu lugar e importncia nas discusses entre ho-
mens de letras, de poder e de ao.
2
Com base em
uma literatura no especfica ao tema, procurei
costurar registros e informaes que confirmam
sua importncia crescente no imaginrio social, no
discurso savant e na prtica urbana. Este exerccio
pretende, com efeito, mostrar de que maneira
ocorreu a construo social da favela, num mo-
mento em que conhecimento e ao eram insepa-
rveis, em que as preocupaes da intelectualida-
de carioca e nacional estavam centradas no futuro
da jovem Repblica, na sade da sociedade, no
saneamento do pas e no embelezamento do Rio
de Janeiro. Recorrendo aos discursos de cada
poca e examinando a multiplicidade de olhares e
interpretaes que nos foram legados por jornalis-
tas, mdicos, engenheiros e urbanistas, procuro
captar esse processo de construo social da favela
iniciado antes mesmo de as cincias sociais entra-
rem em cena. Meu objetivo, ao considerar as
representaes, associaes, imagens e vocabul-
rio utilizados em diferentes tempos por distintos
atores sociais, tentar resgatar uma histria social
da favela e seu merecido lugar em nossa histria
poltica e social.
Antes de mais nada, farei alguns comentrios
sobre a origem deste trabalho e sua orientao. Ele
parte de um estudo mais amplo em que o tema da
favela no Rio de Janeiro revisitado a partir de uma
vasta bibliografia de 526 ttulos levantada pelo
Urbandata.
3
Tal conjunto de textos nos permite
reconstituir a evoluo das representaes sobre
esse espao social a partir de marcos e momentos
que fogem periodizao tradicionalmente utiliza-
da. Em outras palavras, a histria da reflexo sobre a
favela a sua histria intelectual no deve ser
confundida com a sua histria propriamente dita,
baseada em datas, eventos e conjunturas, marcada,
fundamentalmente, pelas diferentes aes/ interven-
es implementadas pelo poder pblico em distin-
tos momentos poltico-administrativos.
4
O exerc-
cio ora proposto, baseado em uma leitura que no
segue a historiografia hoje consagrada, implicar,
portanto, um rompimento com a periodizao tra-
dicional, mas sem descart-la totalmente. Trata-se
de dar incio a uma sociologia da sociologia da
favela, na qual examinarei as origens e a constitui-
o de um pensamento savant sobre esse fenme-
no social, privilegiando seus atores, vinculaes,
interesses, representaes e aes.
Considerando a literatura disponvel em seu
conjunto, pode-se distinguir dois grandes pero-
dos, cujo marco divisor a entrada das cincias
sociais no campo da pesquisa e da reflexo sobre
a favela. O primeiro vai do incio do sculo XX aos
anos 50, correspondendo ao perodo da gnese, da
descoberta do fenmeno e da construo de um
tipo ideal ou arqutipo, at a inaugurao de um
saber oficial sobre o mesmo, com a realizao do
primeiro Censo das Favelas da Prefeitura do Distri-
to Federal e do Censo Demogrfico de 1950. Os
autores dessa primeira leva so jornalistas, cronis-
tas, engenheiros, mdicos, arquitetos, administra-
dores pblicos e assistentes sociais. O segundo
grande perodo comea nos anos 60 e chega aos
nossos dias. Rapidamente a universidade transfor-
ma a favela em um dos seus objetos de estudo,
geraes de pesquisadores se sucedem, alguns se
tornam especialistas e a favela se consagra, ga-
nha centralidade e acaba por inspirar uma grande
parte da literatura sobre a pobreza urbana no Rio
de Janeiro e no Brasil.
5
Optei, neste artigo, por visitar o perodo
fundador. Quero resgatar nossas heranas, mostrar
a importante contribuio dessas geraes que
forneceram as chaves para leituras e interpreta-
es que s se tornaram verdadeiramente conheci-
das a partir da institucionalizao das cincias
sociais.
6
O legado pouco conhecido
Nem nos pases europeus, nem no Brasil a
descoberta da pobreza deve-se aos cientistas soci-
ais (Leclerc, 1979; Himmelfarb, 1984; Bresciani,
1984; Barret-Ducrocq, 1991; Valladares, 1991). No
sculo XIX, quando a pobreza urbana se transfor-
ma em preocupao das elites, tanto l como c,
so os profissionais ligados imprensa, literatura,
engenharia, medicina, ao direito e filantropia que
passam a descrever e propor medidas de combate
pobreza e misria. Na origem desse conheci-
mento impunha-se uma finalidade prtica: conhe-
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 7
cer para denunciar e intervir, conhecer para propor
solues, para melhor administrar e gerir a pobreza
e seus personagens. A cincia a servio da raciona-
lidade e da ordem urbana, da sade do pas e de
sua populao.
No Rio de Janeiro, assim como na Europa, os
primeiros interessados em esmiuar a cena urbana
e seus personagens populares voltaram sua aten-
o para o cortio,
7
considerado no sculo XIX
como o locus da pobreza, espao onde residiam
alguns trabalhadores e se concentravam, em gran-
de nmero, vadios e malandros, a chamada classe
perigosa. Caracterizado como verdadeiro inferno
social, o cortio era tido como antro no apenas
da vagabundagem e do crime, mas tambm das
epidemias, constituindo uma ameaa s ordens
moral e social. Percebido como o espao, por
excelncia, do contgio das doenas e do vcio,
sua denncia e condenao pelo discurso mdico-
higienista foram seguidas por medidas administra-
tivas: primeiro, uma legislao proibindo a cons-
truo de novos cortios no Rio; em seguida, uma
verdadeira guerra que resultou na destruio do
maior de todos, o Cabea de Porco; e finalmente,
a grande reforma urbana do prefeito Pereira Pas-
sos, entre 1902 e 1906,
8
que se propunha a sanear
e civilizar a cidade acabando com as habitaes
anti-sanitrias.
Os estudiosos do cortio no Rio de Janeiro
mostram que essa forma habitacional correspon-
deu semente da favela. Seja por j se notar no
interior do famoso Cabea de Porco a presena
de casebres e barraces (Vaz, 1994, p. 591), seja
por ter havido uma relao direta entre o bota
abaixo do centro da cidade e a ocupao ilegal
dos morros no incio do sculo XX (Benchimol,
1982; Rocha, 1986; Carvalho, 1986). Alguns estabe-
lecem uma relao direta entre o Cabea de
Porco e o desenvolvimento inicial do morro da
Providncia, depois conhecido como morro da
Favella. Isto porque, antes da chegada dos solda-
dos de Canudos, e durante a destruio do maior
cortio do Rio de Janeiro, o prefeito Barata havia
permitido a retirada de madeiras que poderiam ser
aproveitadas em outras construes. Alguns mora-
dores teriam ento subido o morro por detrs da
estalagem. Por coincidncia, uma das proprietrias
do Cabea de Porco possua lotes naquelas en-
costas, podendo, assim, manter alguns de seus
inquilinos (Vaz, 1986; Chalhoub, 1996, p. 17).
Somente aps ferrenha campanha contra o
cortio as atenes comeam a se voltar para esse
novo espao geogrfico e social que vai despon-
tando, gradativamente, como o mais recente terri-
trio da pobreza.
9
Em especial, uma favela catali-
za as atenes, mais precisamente o morro da
Favella, que entrou para a histria por sua associ-
ao com a guerra de Canudos, por abrigar ex-
combatentes que ali se instalaram para pressionar
o Ministrio da Guerra a lhes pagar os soldos
devidos. O morro da Favella, at ento denomina-
do morro da Providncia,
10
passa a emprestar seu
nome aos aglomerados de casebres sem traado,
arruamento ou acesso aos servios pblicos, cons-
trudos em terrenos pblicos ou de terceiros, que
comeam a se multiplicar no centro e nas zonas
sul e norte da cidade do Rio de Janeiro.
11
Segundo
pesquisa realizada por Abreu (1994), apenas na
segunda dcada do sculo XX que a imprensa
passa a utilizar a palavra favela de forma substan-
tiva
12
e no mais em referncia exclusiva ao morro
da Favella, surgindo assim uma nova categoria
para designar as aglomeraes pobres, de ocupa-
o ilegal e irregular, geralmente localizadas em
encostas.
Outro morro, o de Santo Antnio,
13
tambm
atesta a origem desse fenmeno. A sua transforma-
o em favela semelhante ao caso precedente.
Segundo Abreu e Vaz (1991), praas de outro
batalho, retornados da mesma campanha de Ca-
nudos, construram seus barracos, com autorizao
dos chefes militares, em morro situado nos fundos
do quartel, entre as ruas Evaristo da Veiga e
Lavradio. Em 1898 um comissrio de higiene aler-
tava para o crescimento de barraces numa rea j
ocupada, enquanto a imprensa denunciava, em
1901, que estava surgindo a um bairro novssimo,
construdo sem licena nem autorizao das auto-
ridades municipais e em terrenos do Estado [...]
perfazendo um total de 150 casebres [...] e cerca de
623 habitantes. (Abreu, 1994, p. 37).
Datam igualmente do sculo XIX a Quinta do
Caju, a Mangueira que no corresponde atual
e muito conhecida favela da Mangueira e a Serra
8 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
Morena, todas elas anteriores ao morro da Favella.
O incio da ocupao de tais reas remonta a 1881.
Tanto no caso da Quinta do Caju como no da
Mangueira, nada comprova que a ocupao origi-
nal tenha ocorrido por invaso; sabe-se apenas
que os primeiros moradores foram imigrantes por-
tugueses, espanhis e italianos.
14
porm o morro da Favella, repito, que entra
para a histria. J em 1900 o Jornal do Brasil
denunciava estar o morro infestado de vagabun-
dos e criminosos que so o sobressalto das famli-
as. Esta tambm a viso expressa por um
delegado da polcia, segundo nos informa Bretas
(1997, p. 75): Se bem que no haja famlias no
local designado, ali impossvel ser feito o polici-
amento porquanto nesse local, foco de desertores,
ladres e praas do exrcito, no h ruas, os
casebres so construdos de madeira e cobertos de
zinco, e no existe em todo o morro um s bico de
gs.
Fotografado j no incio da dcada,
15
o mor-
ro da Favella no apenas concentra todas as aten-
es como desperta a iniciativa das autoridades.
Chega a ser saneado no ano de 1907, em campa-
nha liderada por Osvaldo Cruz, como atestam duas
caricaturas significativas veiculadas na imprensa.
16
Na primeira, publicada na revista O Malho, Oswal-
do Cruz ostenta uma braadeira com o smbolo da
sade no brao esquerdo e expulsa a populao
do morro da Favella com um pente onde se l
Delegacia de Hygiene. O morro da Favella
representado por um homem mal encarado, com
olhar de mau e de vadio. A caricatura vem acompa-
nhada por um pequeno texto: Uma limpeza indis-
pensvel; a Hygiene vai limpar o morro da Favella,
ao lado da Estrada de Ferro Central. Para isso
intimou os moradores a se mudarem em dez dias.
A segunda caricatura, publicada no Jornal do Bra-
sil, intitulada Saneamento dos morros, mostra
Oswaldo Cruz subindo a favela atrs do prefeito, o
qual precedido pelo chefe de polcia em primeiro
plano. Diz o texto que acompanha a caricatura: As
trs autoridades vo trabalhar de commum acordo,
para melhoria das condies hygienicas dos referi-
dos morros, expurgando-os ao mesmo tempo das
maltas de desocupados que alli existem nos referi-
dos casebres.
As evidncias sugerem que jornalistas, enge-
nheiros, mdicos e homens pblicos vinculados
administrao da capital inclusive os chefes de
polcia vo gradativamente deixando de lado o
cortio, que passa a ser coisa do passado e perde
nfase na prpria rbita do sanitarismo.
17
Definiti-
vamente, a favela vai passando para o primeiro
plano quando se intervm, pensa, ou discute a
cidade e/ ou o pas, quando se planeja seu presente
ou seu futuro. Sobre ela recai agora o discurso
mdico-higienista que antes condenava as habita-
es anti-higinicas; para ela se transfere a viso de
que seus moradores so responsveis pela sua
prpria sorte e tambm pelos males da cidade.
18
Assim, no interior do debate sobre a pobreza e a
habitao popular mobilizando, desde o sculo
XIX, as elites cariocas e nacionais
19
que vamos
encontrar as origens de um pensamento especfico
sobre a favela carioca.
A descoberta da favela e seu mito de
origem
Podemos identificar a gnese do processo de
construo social da favela nas descries e ima-
gens que nos foram legadas por alguns homens de
letras,
20
jornalistas e reformadores sociais do incio
do sculo XX. Amplamente divulgados na poca,
seus escritos permitiram o desenvolvimento de um
imaginrio coletivo sobre o microcosmo da favela
e seus moradores.
Pouco importa terem sido intelectuais das
mais variadas tendncias ideolgicas e polticas,
com propsitos distintos em suas visitas e subidas
ao morro. O importante era partilharem, todos, de
um mesmo entendimento sobre o que eram e
representavam tais reas e seus moradores no
contexto da capital federal e da jovem Repblica,
era estarem todos informados por um mesmo
conjunto de concepes, por um mesmo mundo
de valores e idias. A ponto de participarem da
construo de um arqutipo, de uma imagem
padro que se tornou consensual a respeito desse
mundo diferente que emergia na paisagem cari-
oca pela contramo da ordem.
Mas o que teria inspirado o entendimento e
as representaes dos observadores que cunharam
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 9
esse primeiro discurso sobre a favela? E por que
uma determinada viso acabou se tornando con-
sensual?
Porque na origem dessa construo social
podemos identificar um mito presente em pratica-
mente todos os autores que falam da favela no
incio do sculo XX: o mito de Canudos.
Euclides da Cunha, Canudos e a favela do Rio de
Janeiro
A leitura de textos do princpio do sculo
sugere uma associao mais do que evidente entre
o morro da Favella, no Rio de Janeiro, e Canudos.
Uma histria est ligada outra, pois foram ex-
combatentes da Guerra de Canudos que se instala-
ram no morro da Providncia, a partir da denomi-
nado morro da Favella. So duas as explicaes
para essa mudana de nome: primeiro, a existncia
neste morro da mesma vegetao que cobria o
morro da Favella do Municpio de Monte Santo, na
Bahia; segundo, o papel representado nessa guerra
pelo morro da Favella de Monte Santo, cuja feroz
resistncia retardou o avano final do exrcito da
Repblica sobre o arraial de Canudos. Se, no
primeiro caso, a explicao est baseada numa
similitude tout court, no segundo, a denominao
morro da Favella vem revestida de um forte conte-
do simblico que remete resistncia, luta dos
oprimidos contra um oponente forte e dominador.
A marca de Canudos nesse momento funda-
dor , assim, inconteste.
21
No entanto, bom frisar,
no foi simplesmente Canudos, no foi uma povo-
ao de Canudos qualquer que desempenhou o
papel de mito de origem da favela carioca. Foi o
arraial de Canudos descrito em Os sertes de
Euclides da Cunha.
Considerado por muito tempo como o livro
nmero um do Brasil (Abreu, 1998), com mais de
30 edies em portugus que se sucederam desde
a primeira, em 1902, pela Editora Laemmert, Os
sertes foi lido por todos os intelectuais da poca,
e responsvel por a Guerra de Canudos no ter
cado no esquecimento. Conforme observa Zilly
(1998), no fosse Euclides da Cunha e seu livro
retumbante, essa epopia dos sertes da Bahia ao
final do sculo XIX certamente no teria hoje o
destaque que merece na histria da Primeira Rep-
blica. A importncia e a repercusso dessa obra
tambm podem ser constatadas pelos inmeros
trabalhos j escritos sobre ela e reunidos nas
bibliografias de Reis (1971) e de Garcia e Frste-
neau (1995), para no falar de publicaes recen-
tes que discutem o papel de Euclides da Cunha no
pensamento social brasileiro e seu impacto tanto
ontem quanto hoje (Lima, 1999; Abreu, 1998;
Suplemento especial da revista Histria, Cincias,
Sade Manguinhos, julho de 1998).
Embora o livro de Euclides da Cunha seja
posterior (1902) ao batismo do morro da Providn-
cia como morro da Favella (1887), a marca da obra
no pode ser descartada. Muito pelo contrrio,
foram as imagens fortes e impactantes transmitidas
por Os sertes que permitiram aos nossos intelectu-
ais entender e interpretar a favela emergente.
Um bom exemplo disso o artigo do cronista
flneur Joo do Rio publicado na Gazeta de Not-
cias em 1908 e republicado no livro Vida vertigino-
sa em 1911, com o ttulo de Os livres acampamen-
tos da misria, no qual relata uma visita ao morro
de Santo Antnio tambm favelizado no incio
do sculo XX por ocasio de uma seresta:
Certo j ouvira falar das habitaes do morro de
Santo Antnio. [...] Eu tinha do morro de Santo
Antnio a idia de um lugar onde pobres operri-
os se aglomeravam espera de habitaes, e a
tentao veio de acompanhar a seresta. [...] O
morro era como outro qualquer morro. Um cami-
nho amplo e maltratado, descobrindo de um lado,
em planos que mais e mais se alargavam, a
iluminao da cidade. [...] Acompanhei-os e dei
num outro mundo. A iluminao desaparecera.
Estvamos na roa, no serto, longe da cidade. O
caminho, que serpeava descendo era ora estreito,
ora largo, mas cheio de depresses e de buracos.
De um lado e de outro casinhas estreitas, feitas de
tbua de caixo, com cercados indicando quintais.
A descida tornava-se difcil [...] (Rio, 1911, pp. 51,
52 e 53; grifo meu)
E o flneur continua:
Como se criou ali aquela curiosa vila de misria
indolente? O certo que hoje h, talvez, mais de
10 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
quinhentas casas e crca de mil e quinhentas
pessoas abrigadas l por cima. As casas no se
alugam, vendem-se. [...] o preo de uma casa
regula de 40 a 70 mil ris. Tdas so feitas sbre o
cho, sem importar as depresses do terreno, com
caixes de madeira, flhas-de-flandres, taquaras.
[...] Tinha-se, na treva luminosa da noite estrelada,
a impresso lida da estrada do arraial de Canudos
ou a funambulesca idia de um vasto galinheiro
multiforte. (Rio, 1911, pp. 54-55; grifo meu)
Anos depois, outro jornalista, Luiz Edmundo
(1938), visitou o mesmo morro de Santo Antnio,
oferecendo mais uma descrio rica e viva que iria
compor o registro do Rio de Janeiro de seu tempo:
Em Santo Antnio, outeiro pobre, apesar da situa-
o em que se encrava na cidade, as moradas so,
em grande maioria, feitas de improviso, de sobras
e de farrapos, andrajosas e tristes como os seus
moradores. [...] Por elas vivem mendigos, os au-
tnticos, quando no se vo instalar pelas hospe-
darias da rua da Misericrdia, capoeiras, malan-
dros, vagabundos de toda sorte, mulheres sem
arrimo de parentes, velhos dos que j no podem
mais trabalhar, crianas, enjeitados em meio a
gente vlida, porm, o que pior, sem ajuda de
trabalho, verdadeiros desprezados da sorte, es-
quecidos de Deus [...] (Edmundo, 1938, pp. 246-
247; grifo meu)
E o jornalista continua o relato de sua visita:
Alcanamos, enfim, uma parte do povoado mais
ou menos plana e onde se desenrola a cidadela
miseranda. O cho rugoso e spero, o arvoredo
pobre de folhas, baixo, tapetes de tiririca ou de
capim surgindo pelos caminhos mal traados e
tortos. Perspectivas medocres. Todo um conjunto
desmantelado e torvo de habitaes sem linha e
sem valor [...]. Construes, em geral, de madeira
servida, tbuas imprestveis das que se arrancam
a caixotes que serviram ao transporte de banha ou
bacalhau, mal fixadas, remendadas, de cores e
qualidades diferentes, umas saltando aqui, outras
entortanto acol, apodrecidas, estilhaadas ou ne-
gras. Coberturas de zinco velho, raramente ondu-
lado, lataria que se aproveita ao vasilhame servi-
do, feitas em folha-de-flandres. Tudo entrelaan-
do toscamente, sem ordem e sem capricho. (Ed-
mundo, 1938, vol. 2, pp. 251-252; grifo meu)
Atentando bem para as citaes acima, veri-
ficamos no serem apenas as referncias explcitas
ao arraial de Canudos, feitas pelos cronistas visitan-
tes, que chamam a ateno. Encontramos nesses
relatos o mesmo tipo de descrio, o mesmo tipo
de espanto e surpresa diante de um mundo desco-
nhecido presente em Os sertes. Muito embora
falando da capital da Repblica, os cronistas que-
rem mostrar que os sertes tambm estavam ali,
conforme afirmara em 1918 o mdico Afrnio
Peixoto: No nos iludamos, o nosso serto come-
a para os lados da Avenida (apud Hochman,
1998b).
A fonte inspiradora parece-nos evidente, no
apenas na comparao entre a favela do Rio de
Janeiro e o arraial de Canudos, como tambm na
forma de representar as suas respectivas popula-
es. Parece, alis, bastante claro que Canudos e
seus jagunos, retratados por Euclides da Cunha,
serviram como um modelo para pensar a popula-
o da favela, suas caractersticas e seu comporta-
mento.
Comecemos pelas semelhanas em termos
de topografia e de geografia. O arraial de Canudos
situava-se numa regio montanhosa e a prpria
Favella, localizada na serra baiana que levava o
mesmo nome, era um morro. No Rio de Janeiro,
por muito tempo a associao entre favela e morro
foi automtica. Os dois termos eram empregados
como sinnimos tanto na literatura quanto na
msica (Oliveira e Marcier, 1998).
22
Visitados por
jornalistas, os morros so descritos enfaticamente
como espaos distintos, dotados de uma geografia
particular. O jornalista Benjamin Costallat no faz
outra coisa quando narra as dificuldades no acesso
ao topo do morro devido topografia irregular da
rea, na crnica intitulada A favela que eu vi,
includa em seu livro Mistrios do Rio (1995),
originalmente publicado em 1924:
um caminho de cabras. No se anda, gravita-se.
Os ps perdem a funo normal de andar, trans-
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 11
formam-se em garras. [...] Falavam-me sempre no
perigo de subir Favela [...] O maior perigo que eu
encontrei foi o risco, a cada passo, de despencar-
me l de cima pela pedreira ou pelo morro abaixo.
(Costallat, 1995, p. 34)
Se em Canudos topografia e vegetao j
chamavam especialmente a ateno, o mesmo
continua a ocorrer no Rio de Janeiro, onde o morro
tem como insistem os jornalistas depresses
do terreno, cho rugoso e spero, arvoredo baixo,
tapetes de tiririca ou capim, caminhos mal traados
e tortuosos ou degraus esboados na rocha viva,
escorregadios e perigosos.
Lembremos, por outro lado, que tanto l
como aqui o morro detm uma posio estratgica.
Localizado sobre a cidade, que fica embaixo, goza
de uma situao privilegiada em temos de logstica.
Isolado, oculta de quem olha de baixo o que se
passa em cima. Todos que o alcanam como em
Canudos experimentam a sensao do espanto,
misturado ao deslumbramento. Dizia Euclides da
Cunha (1968, p. 20): [...] inesperado quadro espe-
rava o viandante que subia, depois desta travessia
em que supe pisar escombros de terremotos, as
ondulaes mais prximas de Canudos. Ou: E no
primeiro momento, antes que o olhar pudesse
acomodar-se quele monto de casebres, presos
em rde inextricvel de becos estreitssimos [...] o
observador tinha a impresso exata de topar, ines-
peradamente, uma cidade vasta. (idem, p. 246).
Os jornalistas cariocas igualmente se surpre-
endiam com o quadro que se impunha ao seu olhar
l em cima. Tambm falavam daquele monto de
casebres, todo um conjunto desmantelado e torvo
de habitaes sem linha e sem valor (Edmundo,
1938, vol. 2), como parte de uma verdadeira
cidadela.
Do mesmo modo que em Canudos, a favela
tinha o seu chefe, controlando a cidadela. Nas
palavras do jornalista Costallat (1995, p. 37):
Um dia chegou Favela um homem Z da
Barra. Vinha da Barra do Pira. J trazia grande
fama. Suas proezas eram conhecidas. Era um
valente, mas um grande corao. E Z da Barra
chegou e dominou a Favela [...] E a Favela, que
no conhece polcia, no conhece impostos, no
conhece autoridades, conheceu Z da Barra e a ele
teve que obedecer. E Z da Barra ficou sendo o
chefe incontestvel da Favela.
Guardadas as devidas propores, trata-se da
mesma histria do forasteiro que chega e impe
sua ordem, gere e administra um espao onde no
se obedece s leis nacionais nem se reconhece as
autoridades constitudas, acabando por dominar a
populao local. Vale lembrar que Antonio Conse-
lheiro comeou sua briga com as autoridades
locais no interior da Bahia por conta da recm-
decretada autonomia dos municpios, e rumou
para os confins dos sertes onde poderia fazer
valer suas prprias leis e regras.
O terreno de ningum, de todos, observa
ainda Costallat (1995, p. 35), numa referncia que
mais uma vez aproxima as reas de ocupao dos
morros no Rio de Janeiro ao Arraial de Canudos,
onde a propriedade era coletiva, onde ningum
tinha a condio de proprietrio do cho onde
implantava seu casebre. Na leitura de Euclides da
Cunha, Canudos representava a liberdade de uso
da terra, de trabalho, de impostos, de costumes e
prticas sociais. Uma espcie de paraso comunit-
rio onde a lei nacional no entrava e as normas
sociais no eram ditadas pela sociedade dominante.
A idia de comunidade, to presente no
arraial analisado por Euclides da Cunha, acaba se
transpondo para a favela, servindo como modelo
aos primeiros observadores que tentaram caracte-
rizar a organizao social dos novos territrios da
pobreza na cidade. semelhana de Canudos, a
favela vista como uma comunidade de miserveis
com extraordinria capacidade de sobrevivncia
diante de condies de vida extremamente prec-
rias e inusitadas, marcados por uma identidade
comum. Com um modus vivendi determinado pe-
las condies peculiares do lugar, ela percebida
como espao de liberdade e como tal valorizada
por seus habitantes. Morar na favela corresponde a
uma escolha, do mesmo modo que ir para Canu-
dos depende da vontade individual de cada um.
Como comunidade organizada, tal espao consti-
tui-se um perigo, uma ameaa ordem moral e
ordem social onde est inserida. Por suas regras
12 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
prprias, por sua persistncia em continuar favela,
pela coeso entre seus moradores e por simbolizar,
assim como Canudos, um espao de resistncia.
Observadores de uma viagem bem mais pr-
xima que aos sertes baianos, os jornalistas visitan-
tes dos morros do Rio de Janeiro nas primeiras
dcadas do sculo XX tambm se portam, tal como
Euclides de Cunha, como testemunhas. Espantam-
se no s com o aspecto desorganizado do espao
fsico nas encostas ocupadas, mas tambm com a
misria, a insalubridade e a resistncia de seus
moradores. Luiz Edmundo (1938, p. 255) chega a
convidar o leitor para a nossa peregrinao pela
favela angustiosa.
Na verdade, era como se fossem dois mun-
dos, e a dualidade presente na oposio litoral
versus serto do discurso euclidiano transparece
nessas primeiras imagens e representaes sob a
forma da oposio cidade versus favela. A ima-
gem matriz da favela estava, portanto, construda e
dada a partir do olhar arguto e curioso do jornalis-
ta/ observador. Um outro mundo, muito mais
prximo da roa, do serto, longe da cidade,
23
aonde s se poderia chegar atravs da ponte
construda pelo reprter ou cronista levando o
leitor at o alto do morro que ele, membro da
classe mdia, no ousava subir. Naquela curiosa
vila de misria indolente (Rio, 1911, p. 54), a
organizao do espao era diferente da dos bairros
do Rio: ruas estreitas, caminhos curtos para casi-
nhotos oscilantes, trepados uns por cima dos
outros (idem, p. 55). As habitaes, todas feitas
sobre o cho, sem importar as depresses do
terreno, com caixes de madeira, flhas-de-flan-
dres, taquaras (idem, ibidem), testemunhavam o
estado de misria da populao, que aproveitava
os restos da cidade a madeira dos caixotes que
transportavam a banha ou o bacalhau, o vasilhame
servido e assim por diante.
Comeava a se impor a idia da favela no
apenas como espao inusitado, desordenado e
improvisado, mas tambm como reduto da pobre-
za extrema, onde vivem mendigos [...], capoeiras,
malandros, vagabundos de toda sorte, mulheres
sem arrimo de parentes, velhos dos que j no
podem mais trabalhar, crianas, enjeitados em
meio a gente vlida [...], sem ajuda de trabalho,
verdadeiros desprezados da sorte [...] (Edmundo,
1938, vol. 2, p. 252). Um universo extico em meio
a uma pobreza originalmente concentrada no cen-
tro da cidade, em cortios e outras modalidades de
habitaes coletivas,
24
prolongava-se agora morro
acima, ameaando o restante da cidade.
Estava descoberta a favela... e lanadas as
bases necessrias para a sua transformao em
problema. Observadores qualificados haviam dado
seu testemunho, registrado e divulgado as primei-
ras evidncias de um novo fenmeno.
A transformao da favela em
problema
Data do incio do sculo no apenas a desco-
berta da favela, mas tambm a sua transformao
em problema. Aos escritos dos jornalistas junta-se
a voz de mdicos e engenheiros preocupados com
o futuro da cidade e de sua populao.
25
Surge o
debate em torno do que fazer com a favela, e j na
dcada de 20 assistimos primeira grande campa-
nha contra essa lepra da esthetica.
26
Em 1930, o
plano do urbanista francs Alfred Agache, voltado
para a remodelao e embelezamento do Rio de
Janeiro, denuncia o perigo representado pela per-
manncia da favela. Em 1937 o Cdigo de obras
probe a criao de novas favelas, mas pela primei-
ra vez reconhece a sua existncia, dispondo-se a
administrar e controlar seu crescimento.
Voltemos outra vez ao incio do sculo. A
questo da habitao popular torna-se central na
discusso sobre o futuro da capital da Repblica,
sustentada fortemente por um discurso mdico-
higienista endossado tambm pelos engenheiros.
O perodo 1890-1906 corresponde emergncia
da crise de moradia, quando a populao do Rio de
Janeiro cresce taxa geomtrica anual de 2,84%,
enquanto as construes prediais expandem-se
3,4% e os domiclios, apenas 1%. O resultado do
descompasso entre construes e crescimento po-
pulacional reflete-se no aumento da densidade
domiciliar, que passa de 7,3 para 9,8 pessoas por
moradia (Ribeiro, 1997, p. 173).
No ano de 1905, em meio Reforma Pereira
Passos, o ministro da Justia e Negcios Interiores,
dr. J.J. Seabra, criou uma comisso para dar pare-
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 13
cer sobre o problema das habitaes populares,
escolhendo para tratar do seu aspecto technico-
sanitrio o engenheiro civil Everardo Backheu-
ser, que j havia desempenhado as funes de
engenheiro municipal. Na avaliao deste, as mil
demolies para alargamento de umas tantas ruas,
para abertura de algumas, para derrocar velhas
choas ruinosas [...], tudo isto veio dar molstia
endmica do Rio a m habitao um carter
agudo, angustiante, formidvel. (Backheuser,
1906, pp. 3-4).
So, sobretudo, as habitaes coletivas que
chamam a ateno de Backheuser, conhecedor
que era da legislao e da experincia internacio-
nal em matria de habitao.
27
Preocupado com a
insalubridade, as epidemias e o contgio, ele exa-
mina detalhadamente cortios, casas de cmodos,
avenidas, estalagens, albergues e hospedarias,
atentando para as diferentes legislaes que regu-
lavam a construo e o uso desses vrios tipos de
moradia no Brasil.
28
Mesmo ocupando ainda um lugar menor na
paisagem da cidade, a favela no escapa ao olho
clnico do engenheiro/ observador, merecendo
uma meno especfica em seu relatrio pioneiro,
publicado em 1906 pela Imprensa Nacional. A
referncia, mais uma vez, ao morro da Favella,
29
que se destaca pela originalidade e pelo inespera-
do (Backheuser, 1906, p. 111). Trs fotos ajudam
o leitor a visualizar a favela de longe, em viso
panormica, e de perto, em escala menor, onde
vemos seus casebres e habitantes, estes como que
posando para o fotgrafo em frente s suas casas.
S a Villa Ruy Barbosa, modelo de vila operria
quela poca, tem direito a quatro fotos, em vez de
trs.
Nesse documento indito, ilustrado as
fotos mais conhecidas do morro da Favella so de
Malta e datam dos anos 1920
30
, fala-se em
primeiro lugar do aspecto fsico do aglomerado e
dos seus casebres:
O morro da Favella ngreme e escarpado; as suas
encostas em ribanceiras marchetam-se, porm, de
pequenos casebres sem hygiene, sem luz, sem
nada. Imagine-se, de facto, casas (!) to altas como
um homem, de cho batido, tendo para paredes
tranados de ripas, tomadas as malhas com por-
es de barro a sopapo, latas de kerosene abertas
e juxtapondo-se tboas de caixes; tendo para
telhado essa mesma mixtura de materiais presos
ossatura da coberta por blocos de pedras de modo
a que os ventos no as descubram; divises inter-
nas mal acabadas, como que paradas a meio com
o propsito nico de subdividir o solo para auferir
proventos maiores. isto pllida ida do que se-
jam estas furnas onde, ao mais completo despren-
dimento por comesinhas noes de asseio, se allia
uma falta de gua, quasi absoluta, mesmo para
beber e cosinhar. (Backheuser, 1906, p. 111)
Alm da denncia relativa s precarssimas
condies de habitabilidade, o documento refere-
se populao atrada pelo morro:
Para alli vo os mais pobres, os mais necessitados,
aqueles que, pagando duramente alguns palmos
de terreno, adquirem o direito de escavar as
encostas do morro e fincar com quatro moires os
quatro pilares do seu palacete. Os casebres espa-
lham-se por todo o morro; mais unidos na base,
espaam-se em se subindo pela rua (!) da Igreja ou
pela rua (!) do Mirante, euphemismos pelos quaes
se do a conhecer uns caminhos estreitos e sinu-
osos que do difcil accesso chapada do mor-
ro.[...] Alli no moram apenas os desordeiros e os
facinoras como a legenda (que j tem a Favella)
espalhou; alli moram tambm operrios laborio-
sos que a falta ou a carestia dos comodos atira para
esses logares altos, onde se gosa de uma barateza
relativa e de uma suave virao que sopra continu-
amente, dulcificando a rudeza da habitao.
(idem, ibidem)
A incluso da favela no rol das habitaes
anti-higinicas, sobre as quais urgia uma interven-
o, fora portanto sinalizada. E o poder municipal,
com seu mpeto reformador, j estava de fato
prestes a intervir. Como escreve Backheuser: O
illustre doutor Passos, activo e intelligente prefeito
da cidade, j tem suas vistas de arguto administra-
dor voltadas para a Favella e em breve providnci-
as sero dadas, de accordo com as leis municipaes,
para acabar com esses casebres. (idem, ibidem).
14 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
A problematizaco da favela, ocorrida
quando o processo de favelizao ainda no se
havia generalizado no Rio de Janeiro, contou com
o forte respaldo do saber mdico, em um prolon-
gamento do diagnstico feito ao cortio e pobre-
za, apoiando-se igualmente na engenharia refor-
mista, da qual Everardo Backheuser se fizera um
bom representante. Devemos lembrar que nessa
poca tais profissionais, portadores de uma con-
cepo positivista da cincia, no se preocupavam
apenas com problemas de ordem tcnica, mas
eram tambm atrados pelo desejo de entender e,
sobretudo, explicar os problemas sociais. Eram
portadores da vocao altrusta de servir ao desen-
volvimento material do pas e conduzi-lo rumo
ordem e progresso e modernizao.
31
Desde o
Imprio, mdicos e engenheiros j exerciam im-
portante papel na poltica municipal: o Cdigo de
Posturas Municipais do Rio de Janeiro recebeu
sugestes contidas em relatrios da Comisso de
Salubridade da Sociedade de Medicina e Cirurgia;
em 1880 foi fundado o Clube de Engenharia, de
onde saram tanto nomes para compor os quadros
do funcionalismo, como propostas para solucionar
os problemas de urbanizao da cidade;
32
e na
passagem do sculo foi instituda uma Comisso de
Saneamento composta por engenheiros e mdicos.
A partir da Repblica, engenheiros e mdicos (em
menor nmero) governaram a capital...
33
Essas categorias sociais tinham a cidade do
Rio de Janeiro como espao privilegiado da repre-
sentao de um projeto nacional. Tinham tambm
a firme disposio em ultrapassar as fronteiras
internas de seus campos profissionais e dirigir-se
ao conjunto da sociedade, visando persuad-la a
tomar como legtimos e necessrios os princpios
por eles idealizados como fundamentais para a
constituio de uma sociedade moderna (Hersch-
mann, Kropf e Nunes, 1996, pp. 8-9). Acreditavam,
sobretudo os engenheiros, ser urgente e indispen-
svel para a soluo dos problemas da cidade uma
administrao competente, imune s injunes
polticas, baseada no princpio da submisso da
poltica tcnica (Kropf, 1996, p. 148).
Foi certamente partilhando desses princpios
que a medicina e a engenharia problematizaram a
favela. To logo se passou da Favella s favelas, foi
feito o diagnstico. Os mdicos higienistas, com
seus estudos sobre os agentes causadores das
epidemias, em suas suposies sobre a contamina-
o do meio urbano pelos miasmas, viam a cidade
do Rio de Janeiro como um corpo urbano
34
que
apresentava deficincias e necessitava de certas
intervenes. Seguiu-se, naturalmente, a leitura da
favela como doena, molstia contagiosa, uma
patologia social que precisava ser combatida. As
habitaes clulas do corpo urbano deveri-
am ser saudveis, sujeitando-se rigorosamente s
regras da higiene, recebendo o ar e a luz indispen-
sveis sua salubridade, do mesmo modo que as
clulas do corpo humano tiram oxignio pelo
contato dos vasos do sistema arterial (Agache,
1930).
Os engenheiros, concordando com os mdi-
cos quanto ao meio ser a fonte direta de males ao
estado fsico e moral dos homens, trouxeram as
solues, passando a simbolizar, sobretudo os
engenheiros sanitrios, os mdicos da cidade. Com
as suas atenes voltadas para a regularizao,
localizando de forma precisa e cientfica as causas
dos principais problemas, preocupavam-se com os
melhoramentos que poderiam garantir o bom fun-
cionamento da cidade. Manifestao visvel do
todo social, a cidade era recorrentemente concebi-
da como uma mquina, um mecanismo cujas
engrenagens deveriam ser dispostas e manipula-
das devidamente sob a mesma direo reguladora
(Kropf, 1996, p. 108). Acabar com as favelas seria,
ento, uma conseqncia natural desse tipo de
pensamento: era necessrio resolver os males do
organismo enfermo a cidade imprimindo-lhe
uma direo ordenadora.
A articulao e sntese desses dois discursos
bem ilustrada pelos escritos de Joo Augusto de
Mattos Pimenta, rotariano ilustre e viajado, ora
apresentado como mdico sanitarista, ora tido
como engenheiro e jornalista, personagem impor-
tante do meio empresarial carioca no final dos anos
20, porm pouco citado e mal conhecido pelos
autores contemporneos.
35
Em sua ficha junto ao
Rotary Club,
36
a que se filiou em 1925, consta que
trabalhava em escritrio prprio, exercendo como
profisso a corretagem de imveis. Esta ocupao
confirmada pelo Dicionrio histrico-biogrfico
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 15
brasileiro (FGV/ CPDOC, 1984), onde o persona-
gem aparece sobretudo como um jornalista envol-
vido com as revolues de 1930 e de 1932.
Para os fins deste artigo interessa apenas
destacar o papel e a ao de Mattos Pimenta nos
anos 1926-1927, quando empreendeu junto im-
prensa carioca e aos poderes pblicos a primeira
grande campanha contra a favela em nome do
projeto maior de remodelao do Rio de Janeiro.
37
Mais que qualquer outro personagem do seu tem-
po, Mattos Pimenta sinalizou a transformao da
favela em problema com uma denncia que com-
binava o discurso mdico-higienista com o refor-
mismo progressista e o pensamento urbanstico em
ascenso.
O carro-chefe da bem-estruturada campanha
que durante dois anos ocupou os principais jornais
da cidade foi a imagem da favela como lepra da
esthetica. Excelente analogia para expressar e
sintetizar o tipo de denncia da pobreza realizada
por Mattos Pimenta. Suas frases enfticas merecem
destaque, assim como o paralelo com a lepra,
considerada a doena dos malditos na Idade Mdia
e vista, nos anos 20, como a pior das doenas
existentes:
38
[...] antes mesmo de sua adopo [do plano de
remodelamento do Rio de Janeiro] mister se
ponha um paradeiro immediato, se levante uma
barreira prophylactica contra a infestao avassa-
ladora das lindas montanhas do Rio de Janeiro
pelo flagello das favellas lepra da esthetica,
que surgiu ali no morro, entre a Estrada de Ferro
Central do Brasil e a Avenida do Ces do Porto e
foi se derramando por toda a parte, enchendo de
sujeira e de misria preferentemente os bairros
mais novos e onde a natureza foi mais prodiga de
bellezas. (Mattos Pimenta, 1926)
39
Mattos Pimenta projeta na favela suas preo-
cupaes de reformista, de sanitarista, mas tam-
bm de algum que est preocupado com o lado
esttico e arquitetnico da cidade, com esta obra-
prima da Natureza que o Rio de Janeiro [...].
Outros j haviam denunciado a favela como espa-
o anti-higinico, insalubre, local de concentrao
dos pobres perigosos, rea sem lei. Mattos Pimenta
retoma esse discurso mas insiste sobre uma nova
bandeira, a esttica. Estava nascendo o urbanismo.
Desprovidas de qualquer espcie de policiamen-
to, construdas livremente de latas e frangalhos em
terrenos gratuitos do Patrimnio Nacional, liberta-
das de todos os impostos, alheias a toda aco
fiscal, so excellente estmulo indolncia, attra-
ente chamariz de vagabundos, reducto de capoei-
ras, valhacoito de larapios que levam a inseguran-
a e a intranquilidade aos quatro cantos da cidade
pela multiplicao dos assaltos e dos furtos. (Mat-
tos Pimenta, 1926)
Como assinala Pechman (1996, p. 354), ao
longo da dcada de 20 uma nova concepo
urbanstica comea a ganhar expresso diante da
mera ao pontual higienista e/ ou de embeleza-
mento. Os problemas urbanos moradia, sanea-
mento, circulao vo cedendo lugar a uma
concepo mais sistmica de cidade, que emerge
como objeto de uma nova disciplina cientfica: o
urbanismo. Mattos Pimenta havia passado vrios
anos na Europa, particularmente na Frana, acom-
panhando o desenvolvimento da cincia urbana,
conhecendo bem o seu prestgio nos meios polti-
cos e os resultados estticos positivos de reformas
como a haussmaniana de Paris.
40
No de se
estranhar, portanto, que enfatizasse devermos de-
fender o Rio de Janeiro, cuidar de sua esthetica,
sua hygiene e sua disciplina social com o mesmo
esmero com que Deus cuidou dos seus encan-
tos.
41
A campanha contra a favela, promovida no
interior de uma luta mais abrangente pela remode-
lao do Rio de Janeiro, parece ter sido programa-
da e conduzida com sucesso, respaldada pelo
Rotary Club do Rio de Janeiro, uma das associaes
profissionais da elite do empresariado carioca. Um
filme de dez minutos, realizado por Mattos Pimenta
e patrocinado pelo prprio Rotary,
42
As favellas,
mostrava o espetculo dantesco que presenciei na
perambulao pelas novas favellas do Rio.
43
Mat-
tos Pimenta sabia que, na poca, pouqussimos
eram aqueles que subiam os morros e tinham a
oportunidade de ver de perto e de dentro
16 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
uma favela. O dr. Castro Barreto, mdico sanitarista
e tambm rotariano, foi o primeiro a fornecer a
Mattos Pimenta fotos das favelas, sobretudo de
crianas.
44
Mas um filme, bem divulgado, deveria
causar, com suas imagens, impacto muito maior
junto opinio pblica, sobretudo em respaldo a
uma grande campanha.
O filme foi projetado vrias vezes entre os
anos 1926 e 1927, exibido at mesmo para o ento
presidente da Repblica, dr. Washington Luiz, que
teria expressado o desejo de v-lo.
45
Nada sabe-
mos do seu impacto mas podemos supor que
tenha dado um expressivo suporte cruzada
contra a vergonha infamante das favelas.
46
Certa-
mente era parte da estratgia de Mattos Pimenta
agir em vrias frentes, e a imagem cinematogrfica
deve ter sido uma forte aliada.
47
Tendo conseguido respaldo da imprensa para
a divulgao de suas idias, Mattos Pimenta parte
para obter o apoio do diretor de Sade,
48
do
prefeito e do chefe de polcia. Manda imprimir um
folheto para distribuio gratuita intitulado Casas
populares, no qual divulga uma proposta de solu-
o para o problema das favelas, apontando algu-
mas medidas de salvao pblica,
49
dentre elas:
sustar imediatamente a construo de novos case-
bres, evitando assim o progresso das atuais favelas e
a criao de novas; estabelecer como principal
providncia neste sentido a fiscalizao por parte
dos funcionrios da Prefeitura e do Departamento
Nacional da Sade Pblica, impedindo as constru-
es clandestinas; iniciar a construo de casas para
proletrios e de asilos e colnias para invlidos,
velhos e crianas desamparadas.
O projeto de casas populares, apresentado
em detalhe, levava a marca da familiaridade do seu
autor com o mercado imobilirio.
50
Um contrato
de abertura de crdito com garantia hipotecria e
obrigao de construir casas populares deveria ser
assinado pelo Banco do Brasil e empresas constru-
toras. O programa no deveria implicar nus para
o Tesouro nem descontos em folha de pagamento.
A idia era tornar os indivduos proprietrios de
uma habitao pelo mesmo valor de um aluguel
mensal. Mattos Pimenta chegou a desenhar a plan-
ta dos prdios de seis andares, cada um com os 120
apartamentos que imaginou: as grandes constru-
es com apartamentos e seu systema de vendas
podem ser applicadas no Rio com a vantgem de
serem mais economicas e exigirem menores areas
relativas que as habitaes isoladas.
51
Tudo se-
gundo os modernos princpios da higiene e do
conforto.
Tal projeto almejava, assim, a substituio
das favelas por conjuntos de prdios. Segundo seu
autor, seria possvel, em quinze anos, a juros de 9%
ao ano, oferecer aos moradores dos casebres das
favelas uma construo de cimento armado, isto
porque so raros, rarissimos, os casebres improvi-
sados e ignbeis onde no se paga aluguel.
52
Minha insistncia nesse autor deve-se ao
papel pioneiro de suas idias em relao ao que
veio depois Plano Agache, Cdigo de Obras,
BNH e ao desejo de v-lo devidamente reco-
nhecido como um importante ator social na hist-
ria da favela
53
e na histria da construo de um
pensamento sobre ela.
Mas retomemos o fio da meada, ou seja, o
percurso que estamos tentando reconstituir. Nessa
trajetria, o prximo personagem o conhecido
urbanista francs Alfred Agache, chegado ao Rio
de Janeiro pela primeira vez em 1927, a convite
oficial do ento prefeito Antonio Prado Junior. Sua
escolha como responsvel pelo Plano de Remode-
lao da Cidade do Rio de Janeiro causou inme-
ros conflitos, relatados e reconstitudos por vrios
autores,
54
ficando a elaborao do Plano marcada
por desentendimentos e disputas que a Revoluo
de 1930 se encarregou de arquivar.
No entanto, esse urbanista nos deixou um
volumoso e valiosssimo documento, uma formi-
dvel sntese [...] que comea com o estudo da
Geografia e da Histria, evolui para a anlise dos
indicadores sociais e econmicos, passa pelo estu-
do das formas e traados urbanos, para, enfim, dar
origem tanto s intervenes de carter fsico
como s propostas de legislao que devero
presidir remodelao, o embelezamento e
expanso da cidade (Pereira, 1996, p. 369). Para
realizar tal empreendimento, Agache e sua equipe
basearam-se em trabalhos j existentes. Teriam
consultado nada menos que 63 trabalhos, livros,
relatrios e revistas sobre todos os assuntos da
obra, alm de dezenas de cartas, mapas, fotogra-
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 17
fias e mais de 30 plantas, projetos e desenhos
diversos (Albuquerque Filho, apud Silva, 1995). O
livro no apresenta, porm, a bibliografia utiliza-
da, como hoje de praxe, e nem sempre clara a
origem de suas fontes, sobretudo quanto s esta-
tsticas. Alm disso, Agache foi bastante vago em
seus agradecimentos:
Desejo enderear um agradecimento collectivo a
todos os technicos ou artistas, jornalistas ou sim-
ples enthusiastas da esthetica, que me participa-
ram as suas suggestes sobre as transformaes
desejveis ou possveis a serem introduzidas na
cidade. Os animadores, porm, so demasiada-
mente numerosos para que eu possa nomealos
aqui individualmente.
55
Reconheceu, no entanto, que o plano propos-
to e por ele assinado uma obra de conjuncto e de
collaborao [...] se trata, no de inventar peas mas
de condensar, reunir, em nico e methodico bloco,
o apanhado de idas suggeridas [...] e que vs, meus
senhores, reconhecereis como de vossa lavra, con-
cretisadas em uma s obra, pelo desenho ou pela
palavra escripta (Agache, 1930, p. 21).
A favela no passou desapercebida ao olhar
estrangeiro de Agache. Desde logo chamou a sua
ateno, aparecendo no ttulo de sua terceira
conferncia, Cidades-jardins e favellas. Muito
embora preocupado com o conjunto da cidade,
chamada por ele de Senhorita Carioca, o urbanis-
ta coloca em seu livro a fotografia de uma favella
em meio a outras de bairros da cidade, escreve
sobre o morro de Santo Antnio (Agache, 1930, pp.
176-177) e, finalmente, trata do problema das
favelas e de suas possveis solues (idem, pp.189-
190).
Na leitura de Agache se faz sentir a marca de
Mattos Pimenta.
56
Tudo indica ter sido este o
introdutor do urbanista francs ao universo desco-
nhecido das favelas. Uma foto de Malta publicada
no livro de Zylberberg (1992, p. 32) registra uma
visita realizada ao morro da Favella em 1927, onde
Agache aparece acompanhado por trs outros bem
vestidos senhores. O engenheiro Godoy (1943)
confirma sua visita ao morro da Favella na compa-
nhia de Agache e Mattos Pimenta, de quem era
companheiro de Rotary Club.
57
Talvez no seja exagero dizer que Mattos
Pimenta coloca na pena e na prancheta de Agache
as suas idias, representaes e at mesmo propos-
tas. Lembremos que a campanha em prol da esttica
empreendida por aquele estava em pleno curso
quando o urbanista francs desembarcou em pla-
gas cariocas. Os discursos so muito prximos,
baseados nos mesmos parmetros higienistas e
estticos. A imagem da lepra retomada por Aga-
che. E o conceito moderno de urbanismo, com a
higiene por base e o embelezamento como fim, era
compartilhado pelos dois. A definio oferecida por
Agache (1930, p. 190) ilustra essa proximidade:
Construdas contra todos os preceitos da hygiene,
sem canalisaes dagua, sem exgottos, sem servi-
o de limpeza publica, sem ordem, com material
heteroclito, as favellas constituem um perigo per-
manente dincendio e infeces epidemicas para
todos os bairros atravez dos quaes se infiltram. A
sua lepra suja a vizinhana das praias e os bairros
mais graciosamente dotados pela natureza, despe
os morros do seu enfeite verdejante e corroe at as
margens da matta na encosta das serras.
Para Agache, a favela tambm uma espcie
de cidade-satellite de formao espontnea, que
escolheu, de preferencia, o alto dos morros, com-
posta, porm, de uma populao meio nomada,
avssa a toda e qualquer regra de hygiene (idem,
p. 20). Ele no parece se satisfazer com a simples
constatao e denncia da favela como um mal
que contagia. Observamos em seu trabalho uma
preocupao de entender a causa do fenmeno:
Pde-se dizer que so o resultado de certas dispo-
sies nos regulamentos de construco e da
indifferena manifestada at hoje pelos poderes
pblicos, relativamente as habitaes da popula-
o pobre. Perante as difficuldades accumuladas
para obter-se uma auctorisao de edificar
requerimentos e formalidades s alcanam o seu
destino depois de muito tempo e taxas onerosas
o operario pobre fica descorooado e reune-se
aos sem tecto para levantar uma choupana com
latas de kerozene e caixas de emballagem nas
18 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
vertentes dos morros proximos a cidade e inoccu-
pados, onde no se lhes reclamam impostos nem
auctorisaes. (idem, p. 189)
Agache parece ser um dos primeiros a perce-
ber que elementos exteriores pobreza tambm
atuavam como explicativos da ida para a favela,
assim como os trmites burocrticos vinculados
atividade de construo e a prpria atitude dos
poderes pblicos e da administrao municipal vis-
-vis a habitao popular e os pobres. A esse
entendimento ainda se vem juntar a sua percepo
do social, significando um avano em relao aos
observadores que o antecederam. Agache chega a
descrever o quadro social em uma linguagem
quase sociolgica:
Pouco a pouco surjem casinhas pertencentes a
uma populao pobre e heterogenea, nasce um
principio de organizao social, assiste-se ao co-
meo do sentimento da propriedade territorial.
Familias inteiras vivem ao lado uma da outra,
criam-se laos de vizinhana, estabelecem-se cos-
tumes, desenvolvem-se pequenos commercios:
armazens, botequins, alfaiates, etc. (idem, ibidem)
O mercado habitacional existente na favela
tambm percebido e descrito:
Alguns delles que fizeram bons negocios, melho-
ram a sua habitao, alugam-na at, e estabele-
cem-se noutra parte, e eis pequenos proprietarios
capitalistas que se installaram repentinamente em
terrenos que no lhes pertenciam, os quaes ficari-
am surprehendidos se se lhes demonstrasse que
no podem, em caso nenhum, reivindicar direitos
de possesso. (idem, ibidem)
Endossando a idia de que a favela represen-
tava um srio problema, no s do ponto de vista
da ordem social e da segurana, como sob o ponto
de vista da hygiene geral da cidade, sem falar da
esthetica (idem, p. 190), Agache vai propor no
Plano de Extenso, Remodelao e Embelezamento
que sejam construdas habitaes adequadas sua
populao: A medida que as villas-jardins operari-
as sero edificadas em obedincia aos dados do
plano regulador, ser conveniente reservar um
certo nmero de habitaes simples e economicas,
porm hygienicas e praticas, para a transferencia
dos habitantes da favella. O urbanista temia que
se fossem simplesmente expulsos, se installariam
alhures nas mesmas condies (idem, ibidem).
Com efeito, o diagnstico e as propostas de
Mattos Pimenta no estavam nada distantes do que
foi recomendado pelo especialista francs ao pre-
feito da capital: [...] o problema depende essenci-
almente de uma srie de medidas legislativas soci-
aes e da realizao, com o auxlio dos poderes
pblicos, de um programma de construco de
immoveis salubres e a preo mdico (Agache,
1930, p. 190), uma vez que destruir barraces sem
oferecer nada em troca seria apenas transferir o
problema de lugar.
58
Ainda segundo Agache, seria
recomendvel que os poderes pblicos se esfor-
assem afim de impedir toda a construo estavel
e difinitiva nas favellas (idem, ibidem).
59
Favela: um problema a ser
administrado e controlado
Continuemos ento no percurso que pouco
a pouco foi levando construo de um conhe-
cimento sobre a favela carioca. Estamos ainda no
momento anterior s cincias sociais, em que os
registros sobre a favela se acumulam, vindos de
profissionais de formao variada, com o objeti-
vo de denunciar e alimentar um debate sobre o
que fazer com esse espao e seus habitantes. A
pesquisa, sob a forma que conhecemos, nem
havia comeado a se desenvolver no Brasil. O
que fazia cada especialista, em sua prtica de
observao, era uma leitura da realidade luz do
seu campo disciplinar e das representaes sobre
a pobreza com as quais comungava. As favelas
eram visitadas esporadicamente, observadas de
fora, na maioria das vezes com um olhar conde-
nador.
60
Seus moradores s apareciam em fotos,
inexistindo como informantes nos textos que nos
foram legados.
No final dos anos 30, em meio ao debate
continuado sobre o que fazer com a favela,
61
e
para que pudesse ser condenada oficialmente, a
sua existncia finalmente confirmada. O Cdigo
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 19
de obras publicado em 1937 reconhece sua exis-
tncia quando introduz no Captulo XV, referente
extino das habitaes anti-higinicas, a Seo II
intitulada Favelas (p. 107).
O Cdigo claro em suas intenes. Segue
abaixo o Artigo 349 e alguns de seus pargrafos:
Art. 349 A formao de favelas, isto , de
conglomerados de dois ou mais casebres regular-
mente dispostos ou em desordem, construdos
com materiais improvisados e em desacrdo com
as disposies deste decreto, no ser absoluta-
mente permitida.
# 1
Nas favelas existentes absolutamente proibi-
do levantar ou construir novos casebres, executar
qualquer obra nos que existem ou fazer qualquer
construo.
# 2
A Prefeitura providenciar por intermdio das
Delegacias Fiscais, da Diretoria de Engenharia e
por todos os meios ao seu alcance para impedir a
formao de novas favelas ou para a ampliao e
execuo de qualquer obra nas existentes, man-
dando proceder sumriamente demolio dos
novos casebres, daqueles em que for realizada
qualquer obra e de qualquer construo que seja
feita nas favelas. [...]
# 7 Quando a Prefeitura verificar que existe
explorao de favela pela cobrana de aluguel de
casebres ou pelo arrendamento ou aluguel do
solo, as multas sero aplicadas em dbro [...]
# 8 A construo ou armao de casebres destina-
dos a habitao, nos terrenos, ptios ou quintais
dos prdios, fica sujeita s disposies deste artigo.
# 9 A Prefeitura providenciar como estabelece o
Ttulo IV do Captulo XIV deste decreto a extino
das favelas e a formao, para substitu-las, de
ncleos de habitao de tipo mnimo. [...]
No se trata de discutir o Cdigo em si,
62
mas
to-somente de chamar a ateno para alguns
pontos sublinhados em vrios artigos, pontos que
sinalizam para um conhecimento bem preciso
acerca da favela:
a) nessa primeira definio oficial, dois ou
mais casebres so suficientes para formar uma
favela (como veremos mais adiante, a definio dos
censos ir considerar um mnimo de 50 barracos); o
conglomerado pode ou no ter seus casebres dis-
postos em ordem; a construo precria; esse tipo
de aglomerado se desenvolve fora da lei (em
desacordo com as disposies deste decreto);
b) as favelas existentes crescem pela constru-
o de novos casebres ou pela expanso dos
mesmos;
c) o aluguel na favela importante, manifes-
tando-se sob a forma de aluguel de casebres ou de
arrendamento do solo;
d) a favela apresenta variaes: a construo
de casebres em terrenos, ptios ou quintais de
prdios.
Desvendada e definida na sua diversidade
pelo poder pblico, a favela qualificava-se como
objeto de interveno. Sabemos, no entanto, que
muito embora o Cdigo de obras de 1937 a conde-
nasse atribuindo Prefeitura a responsabilidade
de providenciar a extino das favelas e a criao de
ncleos de habitao de tipo mnimo para substi-
tu-las , pouco de fato ocorreu
63
at que o
prefeito Henrique Dodsworth lanasse o seu Pro-
grama de Parques Proletrios em 1942. No preten-
do reconstituir aqui a histria da interveno gover-
namental na favela. Vrios autores j o fizeram,
consagrando ateno especial a esse perodo (Pa-
risse, 1969a; Leeds e Leeds, 1978; Valla et al., 1986).
O que me interessa assinalar que a favela, uma vez
oficialmente reconhecida, passa gradativamente a
ser vista como um problema a ser administrado. O
prprio Cdigo, que pode ser lido como a primeira
poltica formal de governo relativa favela, apre-
senta medidas puramente administrativas.
64
Foi certamente a necessidade de administrar
a favela e os seus pobres que despertou o interesse
em conhec-la e conhec-los mais de perto. Para
bem administrar e bem controlar necessrio
quantificar e dimensionar o problema ou a ques-
to. A Inglaterra e a Frana haviam assistido a um
enorme desenvolvimento das estatsticas desde o
sculo XIX, e na rea da assistncia pobreza, no
caso ingls atravs das New Poor Laws, os primei-
ros inquiries j demonstravam a utilidade da coleta
sistemtica de informaes.
65
Um conhecimento
que pudesse ir alm de uma viso genrica e
impressionista e permitisse identificar indivduos e
suas respectivas famlias em suas moradias passou
20 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
a ser considerado fundamental. Dados que possi-
bilitassem diferenciar situaes passaram a ser
vistos como necessrios. As estimativas, apenas do
que se dispunha na poca, chegando a falar em
200 mil almas (Agache, 1930),
66
deveriam ser
substitudas por nmeros exatos. Em 1941, durante
o Primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo, j
se pedia um estudo completo das Favelas, atravs
do qual possamos conhecer os aspectos gerais e
particulares do problema. Os autores do docu-
mento, mais uma vez rotarianos, Mariano Filho, o
engenheiro Alberto Pires Amarante e o arquiteto
Americo Campelo, listaram as informaes neces-
srias para orientar a ao: (a) nmero exato de
habitaes que compem cada ncleo; (b) carter
da formao, sua densidade; (c) nmero de habi-
tantes; (d) carter especfico das habitaes; (e)
caracterizao urbanstica das terras ocupadas; (f)
nmero de habitantes, ocupao dos homens e das
mulheres; (g) nmero de crianas em idade esco-
lar; (h) condies sanitrias gerais; (i) extenso da
rea ocupada; (j) dossi fotogrfico; (k) possibili-
dade da urbanizao de cada ncleo; (l) nome do
proprietrio das terras ocupadas.
Estava aberto o caminho para um novo tipo
de conhecimento sobre a favela e seus moradores.
disto que trataremos a seguir.
Conhecer para melhor administrar e
controlar a favela e seus moradores
Os dois primeiros estudos realizados sobre as
favelas do Rio de Janeiro foram o relatrio do
mdico Victor Tavares de Moura, publicado parcial-
mente em 1943 e intitulado Favelas do Distrito
Federal, e o trabalho de concluso de curso da
assistente social Maria Hortncia do Nascimento e
Silva, que ligeiramente anterior, publicado em
livro no ano de 1942 com o ttulo Impresses de uma
assistente social sobre o trabalho na favela. Ambos
sinalizavam claramente os novos tempos, quando j
se reconhecia a necessidade de informaes con-
cretas para gerir a pobreza e seus espaos, vindo o
primeiro a servir de base ao do prefeito Henri-
que Dodsworth e poltica de Parques Proletrios.
Originrio de Pernambuco, concunhado de
Agamenon Magalhaes, Victor Tavares de Moura
67
dirigia no Rio de Janeiro o Albergue da Boa
Vontade em 1940, quando apresentou ao ento
secretrio-geral de Sade e Assistncia do Distrito
Federal, dr. Jesuino de Albuquerque, seuEsboo
de um plano para o estudo e soluo do problema
das favelas no Rio de Janeiro. Foi este documento,
onde o autor diz que fez estudos e observaes
pessoais [...] da vitoriosa experincia de Pernambu-
co no combate aos mocambos (p. 1), que deu
origem aos trabalhos de uma comisso que estu-
dou sade e saneamento a partir de um censo
sistemtico em 14 favelas (Leeds e Leeds, 1978,
pp. 193-194).
68
O mdico percebia claramente a
importncia de conhecer a favela antes de intervir
sobre a mesma:
Da mincia e do critrio com que fr preenchida
a ficha do censo depender em grande parte o
xito da campanha, pois smente com informa-
es reais e pormenorizadas que se pode esco-
lher o caminho a seguir para a soluo de um
problema cuja complexidade no necessito ressal-
tar [...] (Moura, apud Parisse, 1969a, p. 63)
Nesse relatrio, dirigido ao secretrio de Sa-
de e Assistncia, aparece pela primeira vez clara-
mente expressa a complexidade da favela. O autor
apresenta um mapa dos terrenos ocupados e chama
a ateno para a diversidade dos status de ocupa-
o. As situaes apontadas desmistificam a viso,
hoje generalizada, de que a origem da favela
sempre a invaso de terrenos de propriedade priva-
da ou pblica. Victor Tavares de Moura refere-se a
favelas que surgiram em terrenos particulares com a
autorizao e mesmo o auxlio dos proprietrios,
para os quais a construo de barracos nos lotes era
um meio de no pagar impostos e obter uma renda;
favelas que se levantaram em terrenos pertencentes
Prefeitura e prpria Unio; favelas implantadas
em reas onde de um lado est um terreno da
Prefeitura e, de outro, um terreno de particular. O
autor chama a ateno tambm para o aluguel,
dando o exemplo do morro da Favella, onde, no
lado que pertence ao particular, todo o morador
paga o aluguel do cho ou do barraco, e se assim
no o fizer, ser despejado, quase sempre com
violncia (Moura, apud Parisse, 1969a, p. 64).
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 21
A necessidade de reunir informaes bsicas
sobre o universo das favelas que pudessem emba-
sar a formulao de uma poltica de atuao nesse
segmento parece ter ensejado a proposta de Victor
Tavares de Moura de realizao de um censo
prvio das favelas, em que fosse especificada a sua
localizao, com a discriminao do bairro, logra-
douro, natureza do terreno, propriedade do terre-
no e estado de conservao dos barracos. O censo
deveria levantar tambm informaes sobre os
moradores
[...] quanto nacionalidade, idade, cr, sexo,
profisso, instruo, aptides auxiliares, vida con-
jugal e religiosa, frequncia de escola, emprgo,
atividades, renda, tipos de salrio, modo de paga-
mento (efetivo, contratado ou diarista), se propri-
etrio do barraco, quanto lhe custou, se paga fro
ou impostos, se paga aluguel e quanto paga.
(Moura, apud Parisse, 1969a, p. 62)
Os resultados obtidos nesse levantamento
nmeros que tanta sensao causaram na imprensa
carioca em 1941
69
no puderam ser encontrados
em nenhuma das publicaes consultadas. O im-
portante aqui chamar a ateno para a importn-
cia atribuda, j na dcada de 1940, informao
precisa, aos nmeros. Por outro lado, a especifica-
o do que era preciso conhecer sobre cada favela e
cada morador, a preocupao com o detalhe, tam-
bm j sinalizavam um certo conhecimento prvio
da realidade sobre a qual se desejava investigar.
A tese de Maria Hortncia do Nascimento e
Silva (1942) representa outro marco importante
desses primrdios da investigao em favelas.
Lembremos que no governo Vargas a assistncia
social aos pobres deixa de ter um carter exclusiva-
mente privado e religioso para se tornar tambm
uma funo do Estado. A Prefeitura do Rio de
Janeiro, desde os anos 30, empregava assistentes
sociais, a maioria das quais egressas do Instituto
Social, criado em 1937, hoje Departamento de
Servio Social da PUC-RJ. No seria exagerado
dizer que, de certo modo, as assistentes sociais
funcionavam como a mo direita da administrao
municipal na gesto da pobreza: entre a proteo
social e o controle dos pobres.
Assim, administrar a favela significava tam-
bm pilotar, direcionar sua populao. A edu-
cao
70
dos pobres era a chave de entrada que
justificava a presena desses agentes nos bairros
onde essa populao morava. Era necessrio edu-
c-los, no apenas estimular bons hbitos como,
igualmente, fornecer-lhes os elementos necessri-
os sua promoo social.
As assistentes sociais sabiam que era funda-
mental conhecer a populao para realizar um
trabalho social eficaz.
71
A primeira vez que o Servio Social tentou resolver
o problema do Largo da Memria foi em outubro
de 1940. A assistente social da Prefeitura, formada
pelo Instituto Social, D. Maria Luiza Fontes Ferrei-
ra, que muito se interessava pela questo das
favelas, pensou a construir um Centro Social que
se instalaria num barraco, bem ao alcance dos
favelados. Para basear seu plano em dados con-
cretos, realizou um minucioso recenseamento dos
habitantes do Largo da Memria, auxiliada por
funcionrios da Prefeitura. (Silva, 1942, p. 43)
Nesse mesmo Largo da Memria, favela des-
montada
72
pelo prefeito Henrique Dodsworth,
Maria Hortncia realizou a investigao que deu
origem primeira tese
73
sobre a favela carioca
(Silva, 1942), primeiro estudo de caso de que se
tem notcia, muito embora no tenha sido feito
dentro dos parmetros seguidos posteriormente
por socilogos e antroplogos. Como trabalho de
concluso de curso o texto surpreende, constituin-
do hoje uma importante fonte para a reconstituio
tanto da histria da favela como da histria da
pesquisa sobre e na favela.
74
Dentre vrios aspectos interessantes, vale as-
sinalar a natureza etnogrfica de algumas partes do
texto: descrio realista (Silva, 1942, pp. 19-41) da
favela do Largo da Memria, na qual se incluem
figuras com plantas de diferentes tipos de barracos;
apresentao de casos que a autora denomina
tipos curiosos, baseados em itinerrios de vida;
citao de falas ouvidas e registradas de moradores
locais.
75
Tais informaes so complementadas
com dados estatsticos obtidos na Prefeitura
76
relati-
vos a uma populao total de 1.619 indivduos.
22 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
Tabelas simples mostram a distribuio da popula-
o local por sexo, cor, estado civil, condies de
trabalho, nacionalidade, naturalidade, idade, data
de entrada da famlia na favela, salrios mensais
recebidos e no menos de vinte profisses listadas.
Alm disso, consta como anexo do livro um resumo
das atividades do Servio Social no Largo da Mem-
ria e a cpia da ficha utilizada na pesquisa e que
serviu de base transferncia das famlias para o
Parque Proletrio da Gvea em 1942.
Inovador para a poca, o texto oferece infor-
maes inditas sobre o conjunto das favelas do
ento Distrito Federal. Encontramos ali: uma lista
das 36 principais favelas existentes (Silva, 1942, pp.
16-17); um esboo de tipologia que enumera
favelas de morro, favelas de terrenos planos, fave-
las estabelecidas, favelas recentes, favelas em ter-
reno municipal e favelas em terreno particular;
uma classificao dos barracos em bons, maus e
pssimos.
Outro aspecto que merece destaque, e deve
ser entendido como um sinal do seu tempo, a
natureza moral do discurso de Maria Hortncia do
Nascimento e Silva sobre a pobreza e a favela.
Muito embora acreditasse estar escrevendo a partir
de sua observao e de um levantamento criterioso
de informaes, as pginas do livro deixam perce-
ber a afinao da autora com as representaes da
pobreza tpicas de sua poca:
No Rio, cidade de coloridos e galas exuberantes, a
luz forte que ressalta a graa inconfundvel de uma
natureza inigualvel faz da favela um grito ainda
mais dissonante, que se destaca na afinao mara-
vilhosa de tanta riqueza e tanta graa. [...] Talvez
seja por isso que nossas favelas paream mais
miserveis e srdidas do que todas as outras. [...]
uma pobreza tremenda que se abriga naqueles
barracos remendados, um abandono assustador
que confrange o corao dos que penetram neste
mundo parte, onde vivem os renegados da sorte.
(Silva, 1942, pp. 7-8)
Seus valores e preconceitos quanto aos po-
bres tornam-se ainda mais evidentes quando dis-
cute (captulo III) o problema da favela que urge
por uma soluo:
77
Filho de uma raa castigada, o nosso negro,
malandro de hoje, traz sobre os ombros uma
herana mrbida por demais pesada para que a
sacuda sem auxlio, vivendo no mesmo ambiente
de misria e privaes; no sua culpa se antes
dele os seus padeceram na senzala, e curaram suas
molstias com rezas e mandingas. [...] de espan-
tar, portanto, que prefira sentar-se na soleira da
porta, cantando, ou cismando, em vez de ter
energia para vencer a inrcia que o prende, a
indolncia que o domina, e resolutamente pr-se
a trabalhar? [...] Para que ele o consiga, preciso
antes de mais nada cur-lo, educ-lo, e, sobretu-
do, dar-lhe uma casa onde o espere um mnimo de
conforto indispensvel ao desenvolvimento nor-
mal da vida. (Silva, 1942, pp. 62-63)
Tudo indica que a prtica da assistncia soci-
al, com suas regulares idas e vindas favela, maior
assiduidade e intimidade no contato com as famli-
as, teria contribudo para o avano na descoberta da
favela durante a longa fase que precedeu o advento
das cincias sociais. As assistentes sociais, mais que
qualquer outro agente, tinham entrada garantida na
casa dos pobres.
78
No entanto, nem por isso conse-
guiram desvencilhar-se de uma imagem negativa,
cheia de clichs, que por muito tempo marcou a
maneira de as elites nacionais conceberem a pobre-
za e os pobres: pobreza igual a vadiagem, vcio,
sujeira, preguia, carregando ainda a marca da
escravido; pobre igual a negro e a malandro.
79
Um tipo de conhecimento mais cientfico
ainda estava por vir...
A necessidade de informaes
quantitativas qualificadas: os
primeiros censos de favela e o incio
da produo das estatsticas oficiais.
Data do final dos anos 40 o surgimento de um
novo tipo de conhecimento sobre a favela, desta
vez oriundo de rgos oficiais voltados para a
coleta das informaes. Esse novo tipo de saber vai
possibilitar o redimensionamento do fenmeno
favela, at ento entendido como um problema de
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 23
sade pblica, de esttica urbana e/ ou de assistn-
cia social.
Muito embora o pas viesse realizando recen-
seamentos gerais desde o final do sculo XIX, e o
Rio de Janeiro, na condio de capital federal,
tivesse em sua Prefeitura um Departamento de
Geografia e Estatstica, no existiam dados precisos
sobre esse universo to discutido das favelas. Os
nmeros exatos eram desconhecidos, acumulan-
do-se estimativas, na maioria das vezes de natureza
catastrfica. Ao que tudo indica, somente o levan-
tamento cadastral realizado por ocasio dos recen-
seamentos de 1920 e de 1940 e a Estatstica Predial
do Distrito Federal divulgaram alguns resultados,
em carter preliminar, sobre o nmero de domic-
lios e casas de negcio de algumas favelas (Guima-
res, 1953).
80
Passados 50 anos do nascimento da primeira
favela que foi tomada a deciso de realizar um
recenseamento especfico sobre esse tipo de aglo-
merado e seus habitantes. Seu carter de espao
provisrio certamente contribura para que no
lhe fosse dado qualquer destaque nos censos
oficiais de 1920 e 1940. Lembremos que somente
em 1937, com o Cdigo de obras, a favela passa a
existir oficialmente como parte do territrio do
Distrito Federal.
Muito embora houvesse uma demanda por
informaes precisas e um estudo completo das
favelas,
81
esta s foi atendida quando os poderes
pblicos entenderam a importncia e a necessida-
de, para a administrao pblica, de dados confi-
veis sobre esses aglomerados. Como diz claramen-
te Alberto Passos Guimares (1953, p. 256), ento
ocupando o cargo de diretor da Diviso Tcnica do
Servio Nacional de Recenseamento:
Sejam quais forem os rumos escolhidos para equa-
cionar os problemas surgidos com a proliferao
dos ncleos de favelados, o acerto das medidas
que possam vir a ser postas em prtica depender
do melhor conhecimento das caractersticas indi-
viduais e sociais dessas populaes. Eis a razo
por que o VI Recenseamento Geral do Brasil
tomou a iniciativa de apurar, separadamente, os
dados do Censo Demogrfico referentes s favelas
do Distrito Federal, oferecendo, assim, a todos os
interessados, os elementos bsicos sobre aqueles
aglomerados humanos.
A Prefeitura do Rio de Janeiro, desejosa de
extinguir as favelas ou pelo menos sustar o seu
desenvolvimento no Distrito Federal,
82
adiantou-
se ao IBGE, mandando realizar, na gesto do
prefeito general Angelo Mendes de Moraes,
83
o
primeiro Censo das Favelas.
84
Iniciado nas ltimas
semanas de 1947 e terminado em fins de maro de
1948, o censo foi executado pelo Departamento de
Geografia e Estatstica da Prefeitura do Distrito
Federal e publicado em 1949. A princpio foram
identificados 119 ncleos, com uma populao
estimada em 280 mil habitantes. Tal estimativa j
assinalava uma considervel reduo das cifras
entre 400 mil e 600 mil favelados que apareciam
na imprensa carioca.
85
No decorrer dos trabalhos o
nmero de favelas reduziu-se de 119 para 105
86
e
a populao encontrada diminuiu para 138.837
habitantes, dos quais 68.953 do sexo masculino e
69.884 do sexo feminino. O levantamento predial
realizado juntamente com o censo da Prefeitura
acusou a existncia de 34.567 habitaes para os
138.837 favelados, o que corresponde mdia de
4,01 pessoas por prdio. No corpo do documento
oficial foram apresentadas 24 tabelas que forneci-
am dados sobre as habitaes tipo e nmero de
cmodos; cobertura; despejo (esgoto sanitrio);
piso; gua disponvel nas moradias; pagamento ou
no de aluguel (da habitao e/ ou do cho) e a
populao sexo, idade, naturalidade, instruo,
cor, estado civil, atividade declarada, zona de
moradia e zona do exerccio da profisso, salrio
declarado.
No pretendo aqui comentar os resultados
das tabelas desse primeiro Censo das Favelas.
87
O
importante salientar que, pela primeira vez,
foram dadas as possibilidades para a realizao de
um verdadeiro diagnstico das condies de habi-
tabilidade e do padro de vida dos seus morado-
res, que, conforme constatado, j correspondiam a
7% da populao do Distrito Federal.
A produo de dados oficiais iniciada com o
Censo das Favelas da Prefeitura do Rio de Janeiro
teve continuidade imediata no Censo Demogrfico
de 1950, realizado sob os auspcios do governo
24 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
federal, no qual foram publicados pela primeira
vez, separado da populao geral, os resultados
referentes populao das favelas do Distrito
Federal. Neste caso, os dados possibilitavam, alm
de uma anlise global do universo das favelas e
seus habitantes, a comparao da populao des-
ses aglomerados com o restante da populao do
mesmo Distrito Federal.
No entanto, mesmo sendo oficiais, os dados
no coincidiram, valendo assinalar a discrepncia
logo observada entre as duas fontes: o Censo
Demogrfico de 1950 encontrou 58 favelas em
vez dos 105 aglomerados identificados pela Pre-
feitura do Distrito Federal dois anos antes, regis-
trando uma populao de 169.305 moradores.
Como no houve remoo ou supresso de fave-
las nesse perodo, a brutal diferena entre o n-
mero de aglomerados seria explicada pela diver-
sidade dos critrios de definio. Guimares
(1953, p. 259) explicita aqueles adotados pelo
IBGE:
Foram includos na conceituao de favelas os
aglomerados humanos que possussem, total ou
parcialmente, as seguintes caractersticas:
Propores mnimas: agrupamentos prediais ou
residenciais formados com unidades de nmero
geralmente superior a 50;
Tipo de habitao: predominncia, no agrupa-
mento, de casebres ou barraces de aspecto rsti-
co, tpico, construdos principalmente de flhas de
Flandres, chapas zincadas, tbuas ou materiais
semelhantes;
Condio jurdica da ocupao: construes sem
licenciamento e sem fiscalizao, em terrenos de
terceiros ou de propriedade desconhecida;
Melhoramentos pblicos: ausncia, no todo ou em
parte, de rede sanitria, luz, telefone e gua
encanada;
Urbanizao: rea no urbanizada, com falta de
arruamento, numerao ou emplacamento.
Fora por fim, com o recenseamento geral do
Brasil, estabelecida uma definio de favela pauta-
da em critrios objetivos e mltiplos. De natureza
operacional, a definio censitria serviria, apesar de
pequenas alteraes, para orientar a coleta de dados
dos futuros censos do IBGE.
88
Na verdade, a multi-
plicidade de critrios sugeria um avano no conhe-
cimento de uma realidade que, a partir dos anos 50,
tornara-se importante quantificar. O interesse no
era mais apenas contar os barracos e o nmero cor-
respondente de habitantes. A introduo de elemen-
tos como a existncia ou no de melhoramentos p-
blicos e de urbanizao na rea sinalizava a impor-
tncia de se considerar outras caractersticas que
no, exclusivamente, o tipo arquitetnico das mora-
dias e a condio jurdica da ocupao. Interessava
agora o conjunto, o aglomerado e todos os elemen-
tos pertinentes urbanizao.
No obstante a discrepncia entre os dois
primeiros censos, os dados oficiais, inditos, servi-
ram para inaugurar uma nova perspectiva no estu-
do da favela, extremamente contrastante com tudo
que havia sido publicado at ento. A partir de
agora torna-se possvel estudar sua populao por
sexo e grupos de idade, cruzada com inmeras
outras variveis como cor, instruo, religio, uni-
dade da Federao de nascimento, ramos de ativi-
dade. Torna-se possvel tambm obter os mesmos
dados por favelas, revelando toda a complexidade
deste universo.
guisa de concluso
Prova dessa guinada, o livro de Jos Alpio
Goulart (1957), Favelas do Distrito Federal, publi-
cado pelo Ministrio da Agricultura, representa um
novo tipo de literatura. Trata-se de um dos primei-
ros trabalhos a utilizar tabelas e dados do Censo
Demogrfico de 1950 Resultados Relativos
Populao das Favelas do Distrito Federal. Sua
anlise, baseada nas estatsticas oficiais, refuta
representaes vigentes por vrias dcadas sobre
as populaes faveladas, como sendo constitudas,
basicamente, de malandros e desocupados, quan-
do no de marginais. O autor usa tabelas relativas
a ramos de atividade para mostrar que os habitan-
tes (maiores de dez anos) das favelas se dedicavam
aos mais variados ramos, configurando uma popu-
lao heterognea quanto sua insero no merca-
do de trabalho e cujo peso dos inativos era peque-
no em relao ao que se supunha 11.130
pessoas dentre 124.135 recenseadas, ou seja, 8,9%
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 25
, sendo particularmente expressiva a produtivi-
dade da mulher favelada. O livro vai tambm de
encontro idia de serem as favelas redutos
exclusivos da populao negra ao mostrar, sempre
com base nos dados oficiais, que elas eram com-
postas de 28,96% de brancos, 35,07% de pretos,
35,88% de pardos e 0,09 de amarelos.
O livro O negro no Rio de Janeiro, do soci-
logo Costa Pinto, publicado pela primeira vez em
1953, constitui mais um exemplo da mudana
provocada pelo novo tipo de informao disponi-
bilizada agora pelos dados oficiais. No captulo
intitulado Ecologia, o autor analisa a repartio
dos grupos tnicos na rea urbana. Procura com-
preender o problema das favelas do ponto de vista
das relaes de raa, buscando demonstrar o entre-
laamento da estratificao social com a situao
ecolgica e a condio tnica atravs do estudo
dos indicadores de ocupao profissional e nvel
de renda da populao.
Os trabalhos citados demonstram que ocor-
rera um salto tanto qualitativo como quantitativo
na leitura da favela e de sua populao. Uma nova
literatura despontava, baseada em um conheci-
mento menos de impresso e mais de fundamento,
fazendo uso de diferentes metodologias de pesqui-
sa e de dados oficiais combinados observao
sistemtica.
Este novo tempo pode ser demarcado, efeti-
vamente, pela publicao da pesquisa da equipe
da Sociedade de Anlises Grficas e Mecanogrfi-
cas Aplicadas aos Complexos Sociais (SAGMACS),
Aspectos humanos da favela carioca, em 1960, em
dois suplementos especiais do jornal O Estado de
So Paulo. Trata-se da primeira grande investida de
trabalho de campo nas favelas do Rio de Janeiro
realizada por socilogos que seguem os modernos
preceitos dos mtodos de investigao.
89
A hist-
ria da pesquisa das cincias sociais nas favelas tem
aqui o seu marco inicial.
Neste artigo discut apenas a gnese dessa
linha de pesquisa,
90
mostrando a existncia de
uma tradio no estudo da favela carioca cujas
origens remontam ao incio do sculo XX: fave-
la centenria corresponde um conhecimento j
quase centenrio tambm. Foi possvel perceber
uma continuidade no interesse pela favela, muito
embora possamos distinguir perodos de maior
ou menor intensidade pelo nmero de estudos
produzidos. Ressaltei que diferentes olhares disci-
plinares foram se voltando para essa realidade,
produzindo ao longo do tempo um saber (une
pense) sobre a favela que acabou por inspirar
grande parte da literatura sobre a pobreza urbana
no Rio de Janeiro.
Como vimos, uma favela especfica serviu
como arqutipo, como base de construo de um
tipo ideal, passando a inspirar toda a produo
intelectual relativa a esse espao: o morro da
Providncia, logo denominado morro da Favella. A
dualidade cidade/ favela tem sua gnese nesse
perodo fundador, quando a favela vista como
territrio mximo da precariedade tanto fsica
quanto social que se ope ao restante da cidade,
sua ordem e sua populao. Aglomerao perce-
bida como temporria, transitria, , no entanto,
logo reconhecida pelos primeiros observadores
como detentora de valor econmico e, como tal,
explorada mediante a cobrana de aluguel do
cho ou dos barracos. O primeiro Censo das
Favelas (1949) vem confirmar essa realidade, en-
contrando nada menos que 31,4% de unidades em
que se pagava aluguel pelos barracos e 6,4% de
unidades em que se pagava aluguel pelo cho,
perfazendo um total de 38%.
Pude constatar, tambm, que nem a idia
hoje amplamente generalizada de as favelas resul-
tarem da invaso de terrenos, nem a hiptese da
favela como soluo de moradia barata para os
pobres urbanos estavam presentes nesse perodo
fundador. Assim como tambm no havia a idia
de os favelados serem maciamente oriundos das
correntes migratrias que trouxeram os nordesti-
nos para o Rio. Os habitantes de inmeras favelas
desse perodo inicial eram imigrantes estrangeiros
pobres portugueses, espanhis, italianos que
precisaram enfrentar a crise da moradia no comeo
do sculo. Ou correspondiam a uma populao
que havia povoado incialmente o cortio mas que,
de fato, era fruto da reproduo da pobreza origi-
nria do Rio de Janeiro.
Muitos jovens que hoje se interessam pelo
estudo da favela ignoram a contribuio de seus
antecessores
91
e escrevem como se estivessem
26 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
pela primeira vez descobrindo este espao e seus
moradores. Minha inteno aqui foi recuperar essa
tradio para melhor entend-la, divulg-la e ga-
rantir a sua continuidade, uma vez que esse conhe-
cimento acumulado, resultante de inmeros traba-
lhos e observaes anteriores s cincias sociais,
permanece pouco conhecido.
92
NOTAS
1 Ver, por exemplo, a lista de trabalhos apresentados no
GT Pensamento Social no Brasil no XXIII Encontro
Anual da Anpocs (Oliveira, 1999). Essa ausncia fica
ainda mais bvia a partir da leitura da resenha sobre a
classe trabalhadora no Rio de Janeiro preparada para o
BIB por Gomes e Ferreira (1987).
2 No examinarei a importncia da favela nas artes pls-
ticas, cinema ou msica popular. Sobre sua inscrio na
msica popular ver o extenso e cuidadoso trabalho
realizado por Oliveira e Marcier (1998).
3 Os ttulos aparecem em O que j se sabe sobre as favelas
cariocas: uma bibliografia comentada (Valladares e
Medeiros, no prelo). Aproveito para deixar aqui registra-
do meu agradecimento equipe do Urbandata, especi-
almente a Lidia Medeiros, minha assistente, que dirigiu
com competncia o trabalho de levantamento bibliogr-
fico feito pela equipe de bolsistas de iniciao cientfica
do CNPq, composta por Ana Lcia Saraiva Ribeiro,
Mrio Fernando Passos Danner e Natalia Gaspar. Para se
chegar a to elevado nmero de referncias foram
consultadas inmeras bibliotecas do Rio de Janeiro:
Biblioteca Nacional, do Iuperj, do IBAM, do IBGE, do
Instituto Pereira Passos (na poca Iplanrio), da Funda-
o Getlio Vargas, da Caixa Econmica, da PUC, do
IFCS-UFRJ, do IPPUR-UFRJ, do Programa de Ps-Gra-
duao em Geografia-UFRJ, da Procuradoria Geral do
Estado, do CBCISS entre outras.
4 A periodizao pode variar um pouco de um autor para
outro. A mais freqente considera: (a) anos 30: incio do
processo de favelizao do Rio de Janeiro e reconheci-
mento da existncia da favela pelo Cdigo de obras de
1937; (b) anos 40: primeira proposta de interveno,
com a criao dos Parques Proletrios; (c) anos 50 at
meados dos 60: perodo de expanso das favelas por
ausncia de uma proposta governamental voltada para
elas; (d) meados dos anos 60 a meados dos 70: perodo
das remoes, coincidindo com o perodo do regime
autoritrio no pas; (e) anos 80: perodo da urbanizao
via BNH e agncias do servio pblico; (f) primeira
metade dos 90: perodo de ausncia de ao governa-
mental e retomada do crescimento das favelas; (g)
segunda metade dos anos 90: perodo do programa
Favela-Bairro, de regularizao e urbanizao das fave-
las cariocas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ver a
periodizao estabelecida por Valla et al. (1986), cons-
truda a partir de marcos polticos e que distingue os
seguintes perodos: (a) 1882-1938: dos cortios s fave-
las; (b) 1938-1945: os Parques Proletrios; (c) 1945-1954
(perodo Vargas): consolidao do fenmeno favela; (d)
1955-1962: o populismo desenvolvimentista e as favelas;
(e) 1962-1973: o perodo autoritrio das remoes; (f)
1974-1980: novo perodo de redemocratizao e a pol-
tica de urbanizao do BNH.
5 Vale lembrar que os estudos sobre favela em So Paulo
so posteriores primeira onda de estudos de cientistas
sociais sobre a favela no Rio de Janeiro. Em So Paulo o
fenmeno bem mais tardio, como atestam os inmeros
trabalhos de Taschner (1997).
6 Dentre os poucos autores que se voltaram para essa
herana destaca-se Anthony Leeds, que conseguiu, nos
anos 60, reunir uma bibliografia nunca publicada mas
utilizada no clssico artigo de 1969 publicado na revista
Amrica Latina, The significant variables determining
the character of squatter settlements (a bibliografia
aparece como forthcoming). Parisse (1969c) tambm
teve essa preocupao e nos deixou, no mesmo nmero
da revista Amrica Latina, uma Bibliografia cronolgi-
ca sobre a favela do Rio de Janeiro que, no entanto, s
considera textos a partir de 1940. Mais recentemente, os
livros de Rocha (1986) e Carvalho (1986) mergulham na
virada do sculo usando como fontes primrias relatri-
os oficiais e crnicas da poca. Valla et al. (1986), em sua
reconstruo da histria das favelas no Rio de Janeiro,
tambm se preocupam com fontes antigas, baseando-
se, alm destas, em Leeds (1969) e Parisse (1969a). Do
meu conhecimento, somente o artigo de Abreu (1994)
levantou sistematicamente o que foi publicado na im-
prensa do incio do sculo XX sobre a favela carioca.
7 A literatura brasileira sobre o cortio hoje extensa. Vai
desde o romance de Azevedo (1890), que leva o mesmo
ttulo, passando pelo artigo de Vaz (1986) sobre o
Cabea de Porco, at trabalhos de inmeros historia-
dores contemporneos que discutem a reforma de
Pereira Passos, como Benchimol (1982), Rocha (1986),
Carvalho (1986), Carvalho (1987), dentre outros. Mais
recentemente Chalhoub (1996) escreveu um livro no
qual os cortios so apontados como um problema para
o controle social dos pobres e uma ameaa s condies
higinicas da cidade. Estes historiadores utilizaram fon-
tes primrias da poca, tais como projetos apresentados
Cmara, pareceres do Conselho Superior de Sade
Pblica, Anais do Conselho Municipal etc.
8 Segundo Rocha (1986, p. 72), que estudou a era das
demolies, quando o presidente Rodrigues Alves
inaugurou oficialmente a avenida Central, 1.681 habita-
es haviam sido derrubadas e cerca de 20 mil pessoas
foram obrigadas a procurar novas moradias.
9 L-se em SAGMACS (1960, 1 parte, p. 3): A palavra
favela parece ter sido trazida para o Rio de Janeiro aps
a Guerra de Canudos. Favela planta do serto e no
escapou erudio botnica de Euclides da Cunha, que
a deu como leguminosa. Graciliano Ramos cita-a em
Infncia, assinala suas folhas caustificantes na vegeta-
o nordestina. Teria dado o nome a uma serra da
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 27
Bahia, no Municpio de Monte Santo. Na topografia de
Canudos havia um monte com esse nome, ao sul do
povoado. O morro da Favella, de onde a denominao
parece ter se estendido a outros aglomerados humanos
no Rio de Janeiro, foi habitado por vivandeiras vindas
para o Rio com as tropas que haviam lutado contra os
fanticos de Canudos. A construram os barracos da
primeira favela do Rio, para a trouxeram o Cristo da
devoo de Antonio Conselheiro que, desde 1901, foi
instalado na mida capela do morro e tem sido at hoje
guardado por suas devotas.
10 A preocupao de resgatar a memria ainda viva do
morro da Providncia, atravs de seus lembradores,
encontra-se no livro de Zylberberg (1992). A autora
complementa os depoimentos com documentos da
poca.
11 H polmica em torno do momento do incio do
processo de favelizao no Rio de Janeiro. A maioria dos
autores segue o que disse o estudo da SAGMACS (1960,
1 parte, p. 3): S a partir de 1933 a favela comea a
marcar a paisagem carioca. J Abreu (1994, p. 38)
mostra, com base em detalhada pesquisa em jornais,
que a partir da dcada de 1920 que a expanso das
favelas tornar-se-ia multidirecional e incontrolvel. A
apresentao, em seu artigo, de um mapa com as
primeiras favelas do Rio de Janeiro s faz reforar sua
afirmao. Silva, que analisa As queixas do povo ao
Jornal do Brasil na primeira dcada do sculo XX, s
encontrou no perodo uma queixa oriunda da favela,
proveniente dos moradores do morro da Providncia
que estavam sem uma gota dgua em suas bicas (Silva,
1988, p. 25).
12 Foi pesquisando junto ao Correio da Manh entre 1901
e 1930 que Abreu percebeu essa significativa mudana.
13 Diferentemente do morro da Favella (atual morro da
Providncia), o morro de Santo Antnio j no existe
mais. Foi desmontado nos anos 50, em operao urba-
nstica destinada a expandir o centro da cidade.
14 A informao sobre a Mangueira vem do Cadastro de
Favelas do Iplan-Rio. Sobre a Quinta do Caju, de
Bernardes (1958), que, discutindo a contribuio de
portugueses e espanhis para o desenvolvimento da
pesca na antiga capital da Repblica, relata a histria da
ocupao da rea no sculo XIX. Segundo Bernardes,
esta era, em sua origem, terreno da Imperial Quinta do
Caju que, com a Repblica, passara propriedade
federal, permanecendo por muito tempo abandonado.
Foram pescadores portugueses os primeiros a se estabe-
lecer na praia e no morro do Caju, sendo a ocupao
autorizada, como sublinha a autora: no morro, onde o
governo permitia a instalao de pequenas casas, em
princpio provisrias, multiplicaram-se as novas moradi-
as (Bernardes, 1958, p. 59).
15 Ver a nota 30, relativa iconografia do morro da Favella.
16 As caricaturas encontram-se reproduzidas em Falco
(1971).
17 No h como ignorar que a diminuio da nfase no
cortio guarda estreita relao com a guerra de picare-
tas contra eles iniciada por Barata Ribeiro e coroada
com a operao Pereira Passos. Mas seria esta a nica
explicao plausvel? Hochman (1998a), analisando a
era do saneamento, lembra as duas fases do movimen-
to sanitarista. A primeira, que corresponde primeira
dcada do sculo XX, foi marcada pela gesto de
Oswaldo Cruz frente dos servios federais de sade e
priorizou o saneamento urbano da cidade do Rio de
Janeiro e o combate s epidemias de febre amarela,
peste e varola. A segunda, durante as dcadas de 10 e
20, centrada no interior do Brasil, ressaltou o saneamen-
to e o combate s endemias rurais.
18 Vale a pena fazer uma comparao entre o povo tal
como aparece em Os bestializados (Carvalho, 1987) e os
moradores dos morros descritos pelos autores do incio
do sculo mencionados neste artigo. As elites entendi-
am a pobreza da mesma forma, apenas o local de
moradia dos pobres havia se alterado.
19 Este debate sobre a pobreza e a habitao popular na
virada do sculo recuperado, entre outros, por Cha-
lhoub (1996), que analisa em detalhe as batalhas na admi-
nistrao pblica e o discurso dos higienistas contra as
habitaes coletivas durante o perodo anterior e aquele
imediatamente posterior Reforma Pereira Passos.
20 Na introduo ao livro Um sculo de favela, Zaluar e
Alvito (1998) referem-se a Olavo Bilac e Lima Barreto
como autores que contribuem para a construo de um
discurso sobre a favela nas duas primeiras dcadas do
sculo XX.
21 Parece-nos secundrio discutir a primazia de uma ou de
outra explicao. Por que no acatar a ambas?
22 Oliveira e Marcier (1998, p. 71) confirmam esta hiptese
no estudo que fizeram da representao da favela na
msica popular: mesmo antes de ser favela, a favela
foi morro no Rio e sua expanso na malha urbana foi
fundamentalmente impulsionada pela ocupao de no-
vos morros e/ ou pelo adensamento dos antigos. No
de estranhar, portanto, que no conjunto de 163 msicas
levantadas, 93 estabeleam uma sinonmia entre morro
e favela.
23 Em 1961 publicado o artigo do americano Frank
Bonilla, Rios favelas: the rural slum within the city.
Meio sculo aps a descoberta da favela, a sua imagem
permanecia como um prolongamento do mundo rural
na cidade. S que agora na pena de um cientista social...
24 Carvalho (1986) descreve detalhadamente os vrios
tipos de habitaes coletivas existentes na virada do
sculo: cortios, estalagens, avenidas, casas de cmodo
e vilas operrias.
25 Novamente existe uma semelhana com o caso da
Inglaterrra, onde tambm mdicos sanitaristas, enge-
nheiros e polticos pesquisaram junto aos pobres, con-
tribuindo para denunciar e enfatizar problemas vincula-
dos pobreza, sade e moradia (Jones, 1976;
Chesney, 1982; Himmelfarb, 1984).
26 Campanha empreendida no Rio pelo dr. Mattos Pimen-
ta, rotariano, nos anos 1926-1927. Agradeo a Mauricio
28 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
Abreu pelo acesso s matrias de jornal relativas a este
autor aqui utilizadas. Agradeo tambm a Denise Stu-
ckenbruck, que me cedeu uma cpia de publicao
contendo trs dos discursos pronunciados por Mattos
Pimenta no Rotary Club do Rio de Janeiro. Sem esquecer
a colaborao de Margareth Pereira, com quem tenho
discutido o papel de inmeros reformadores sociais,
urbanistas e arquitetos que pensaram e intervieram no
Rio de Janeiro nas primeiras dcadas do sculo XX.
27 Ver a segunda parte do relatrio de Backheuser (1906,
pp. 55-87), intitulada Interveno dos poderes publicos
nos diversos paizes. impressionante o conhecimento
desse engenheiro sobre a legislao (propostas antigas
e em vigor) nos pases europeus e nos Estados Unidos!
28 O relatrio reproduz o Decreto n 244, de 1896, o
Decreto n 842, de 1901, e o Decreto n 391 de 1903. A
leitura atenta destes decretos extremamente esclarece-
dora para o entendimento do mercado de habitaes
populares na virada do sculo. Vale lembrar que no
existe na lei qualquer referncia favela.
29 Segundo Backheuser (1906, p. 111), o morro da Favella
foi assim chamado pelos soldados que retornaram da
Guerra de Canudos e que por certo acharam o seu qu
de semelhana entre o reducto dos fanticos e o reducto
da misria no Rio de Janeiro.
30 A documentao fotogrfica do morro da Favella, que
pode ser localizada no Museu da Imagem e do Som e no
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, est reunida
no livro de Zylberberg (1992). Infelizmente a qualidade
fotogrfica da publicao no faz jus ao rico material
reunido pela autora e aqueles que colaboraram na
pesquisa iconogrfica.
31 Como dizem Herschmann e Pereira (1994, p. 45): Estes
intelectuais portadores de um saber tcnico e especi-
alizado reivindicavam a responsabilidade pela organiza-
o social e seus discursos foram se constituindo nas
diretrizes bsicas da sociedade brasileira.
32 A propsito do poder dos mdicos e engenheiros no Rio
de Janeiro, ver o livro de Herschmann, Kropf e Nunes
(1996), centrado no perodo 1870-1937. Ver tambm
Stuckenbruck (1996), que mostra como a preocupao
social que permeia o discurso da engenharia encontra
ampla ressonncia no urbanismo que se afirma no Brasil
a partir dos anos 20.
33 Vale lembrar alguns: o engenheiro Pereira Passos (1903-
1906), o engenheiro Paulo de Frontin (que governou
apenas de janeiro a julho de 1919), o engenheiro Carlos
Sampaio (1920-1922) e o engenheiro Alaor Prata (1922-
1926). Constitui exceo o caso de Antonio Prado Junior
(1926-1930), que era um industrial paulista. Sobre estes
prefeitos e suas respectivas gestes, ver Stuckenbruck
(1996).
34 Como bem recorda Agache (1930, pp. 226-227), a idia
da cidade como um corpo, como um organismo, e todo
o vocabulrio de metforas retirado do discurso mdico
e da biologia eram comumente empregados na Europa.
No subcaptulo intitulado O corpo urbano, o urbanista
lembra muitas das analogias ento em uso: Neste ser
collectivo que uma grande cidade, o systema muscular
representado pela rde das linhas de energia electrica
que contem a energia necessria s suas industrias e aos
seus transportes. A rede das linhas telegraphicas e
telephonicas que liga as habitaes essas cellulas do
corpo urbano s estaes centraes, corresponde ao
systema nervoso do organismo. No se tem dito egual-
mente que os espaos livres, avenidas, praas, jardins,
so os pulmes da cidade? [...] no centro da cidade,
corao urbano, que so conduzidas todas as grandes
correntes da circulao. Do mesmo modo que as cellu-
las do corpo humano tiram oxygenio pelo contacto dos
vasos do systema arterial, as habitaes recebem o ar e
a luz indispensveis sua salubridade dos vos abertos
sobre as arterias das vias de circulao. Dentre os
autores contemporneos, Pereira (1989) discute at que
ponto e de que forma muitas das noes que o plane-
jamento urbano e territorial tornaria correntes no sculo
XX derivam diretamente de paralelos entre o corpo
urbano uma nova viso do Estado, da sociedade e da
cidade como corpos e o funcionamento ideal do
corpo humano.
35 S encontrei referncias a Mattos Pimenta em Abreu
(1994), Pechman (1996), Silva (1995 e 1996) e Stucken-
bruck (1996). Somente Abreu (1994) escreve especifica-
mente sobre Mattos Pimenta e a favela; os outros falam
dele, sobretudo em relao contratao do urbanista
Alfred Agache para fazer o Plano de Remodelao do
Rio de Janeiro. Parisse (1969a), Leeds (1969) e Valla et al.
(1986), que reconstituram a histria da poltica gover-
namental direcionada favela, curiosamente (!!) no se
depararam com tal personagem, e tampouco no estudo
da SAGMACS (1960) existe qualquer meno a ele. Os
poucos autores contemporneos que falam de Mattos
Pimenta consideram, unanimemente, que ele era rotari-
ano, mas o tm como mdico sanitarista, profisso que,
na realidade, parece nunca ter exercido! (Pechman,
1996; Silva, 1995 e 1996; Stuckenbruck, 1996). Na ficha
do Rotary Club do Rio de Janeiro ele aparece como
corretor de imveis, e nos jornais de 1926-1927, como
engenheiro Mattos Pimenta. Enfim, no Dicionrio hist-
rico-biogrfico do CPDOC-FGV desvendamos o mist-
rio, muito embora no haja qualquer meno ao seu
estatuto de rotariano. Formado em medicina no Brasil,
foi para a Alemanha em 1913 onde se especializou em
psiquiatria. Participou da Primeira Guerra em 1917
como capito-mdico na Frana, at abandonar a pro-
fisso em 1918. De volta ao Brasil em 1919, tornou-se
superintendente de minas de carvo no Rio Grande do
Sul e, a seguir, diretor da Companhia Construtora do
Brasil, funo que exerceu at 1926. No final da dcada
de 20 fundou, no Rio de Janeiro, o jornal A Ordem,
incendiado e fechado pelos revolucionrios de 1930.
Em seguida exilou-se em Paris, onde escreveu o livro
Um grito de alerta no tumulto da revoluo. De volta ao
Brasil, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, tornando-se
corretor de imveis a partir de 1931. Fundou em 1937 o
Sindicato dos Corretores de Imveis, do qual seria
presidente at 1946. Em 1948 engajou-se na Campanha
do Petrleo e, fiel s suas tradies nacionalistas, ops-
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 29
se criao dos contratos de risco durante o governo
Geisel. Mattos Pimenta morreu na cidade do Rio de
Janeiro em 1979.
36 Agradeo ao sr. Dlio Passos o acesso ao material sobre
Mattos Pimenta disponvel no Rotary Club do Rio de
Janeiro e tambm ao sr. Fernando Reis, pelas informa-
es obtidas no banco de dados sob sua responsabilida-
de.
37 Os textos de Mattos Pimenta correspondem a discursos
pronunciados durante almoos do Rotary Club. Muitos
deles foram publicados na ntegra ou parcialmente em
jornais do Rio de Janeiro. Ver referncias nas notas que
seguem.
38 A analogia mais conhecida a que se fez, anos mais
tarde, da favela com o cncer. Esta a primeira analogia
com a lepra de que temos conhecimento.
39 Discurso pronunciado em almoo no Rotary Club do Rio
de Janeiro em 12 de novembro de 1926, levando o ttulo
de As favellas, e reproduzido em dois importantes
jornais da poca, o Correio da Manh e O Jornal, ambos
de 18 de novembro de 1926. Este discurso, na sua
ntegra, encontra-se em Para a remodelao do Rio de
Janeiro (Mattos Pimenta, 1926).
40 O grande conhecimento que Mattos Pimenta tinha das
cidades europias e mesmo da legislao francesa trans-
parece em vrios dos seus escritos. Ver, sobretudo, o
discurso pronunciado em almoo do Rotary Club em 29
de outubro de 1926, publicado em Noticias Rotarias, 12/
11/ 1926, sob o ttulo O remodelamento do Rio de
Janeiro.
41 Ver discurso intitulado As favellas, op. cit.
42 A informao de que o filme foi realizado sob os
auspcios do Rotary Club e confeccionado pelo rotaria-
no Dr. Mattos Pimenta est no Jornal do Commercio de
12/ 3/ 1926, na matria intitulada O combate s fave-
llas.
43 Ver discurso intitulado As favellas, op. cit.
44 Ver discurso intitulado As favellas, op. cit., onde o
autor comenta essas fotografias.
45 A primeira exibio do filme parece ter ocorrido no
Hotel Glria, em 12 de novembro de 1926, como parte
da campanha em prol do Projeto de Remodelamento do
Rio de Janeiro, encabeada pelo adido comercial do
Brasil na Frana, sr. Francisco Guimares (de acordo
com Noticias Rotarias, ano II, n 48). A notcia de que o
mesmo filme seria exibido para o presidente da Repbli-
ca no Theatro Capitolio de Petrpolis, em 13 de maro
de 1927, foi divulgada em vrios jornais da poca. Ver
Uma nota tranquilisadora do governo. O Dr. Mattos
Pimenta vae passar o seu film em Petrpolis para o
presidente da Repblica, O Globo, 11/ 3/ 1927; ver tam-
bm O combate s favellas, Jornal do Commercio, 12/
3/ 1927; e ainda As favellas do Rio, A Noticia, 11/ 3/
1927. O filme tambm esteve em cartaz no famoso
Odeon (Stuckenbruck, 1996).
46 Ver Pela belleza e hygiene da nossa cidade; faam-se
casas baratas ao alcance da bolsa da gente pobre! Uma
voz de propaganda e de enthusiamo. O que se deve ao
Dr. Mattos Pimenta, O Globo, 15/ 8/ 1927.
47 Infelizmente nenhum pesquisador conseguiu at hoje
localizar o referido filme, certamente o primeiro docu-
mentrio realizado sobre as favelas do Rio de Janeiro.
48 Em 7 de dezembro de 1926 Mattos Pimenta consegue
que O Jornal publique sua carta ao dr. Clementino Fraga
que, convencido, solicita sua colaborao pessoal. Ver
Sobre a remodelao da cidade; o papel do hygienista;
carta ao dr. Clementino Fraga, director do D.N.S., O
Jornal, 7/ 12/ 1926.
49 Ver discurso As favellas, op. cit.
50 bom lembrar que Mattos Pimenta era corretor de
imveis e, segundo o Dicionrio histrico-biogrfico
brasileiro, diretor da Companhia Construtora do Brasil
em 1926.
51 Uma cpia do contrato encontra-se em As casas popu-
lares um projecto do engenheiro Mattos Pimenta para
resolver a crise de habitaes, O Jornal, 9/ 12/ 1926.
52 Ver a mesma matria de O Jornal, 9/ 12/ 1926.
53 Somente Abreu (1994) e Stuckenbruck (1996) destacam
o papel representado por Mattos Pimenta na histria da
favela carioca durante os anos 20. No se referem, no
entanto, s idias precursoras deste rotariano quanto
proposta de casas populares.
54 J so vrios os trabalhos que falam de Agache e de sua
passagem pelo Brasil: Rezende (1982), Silva (1995 e
1996), Pereira (1996) e Stuckenbruck (1996).
55 Os agradecimentos aparecem em folha no numerada,
antes do ndice, no final do volume. Menes nominais
so apenas feitas a Francisco Guimares, adido comer-
cial em Paris, que trouxe Agache para o Brasil, e ao
secretrio-geral do prefeito Antonio Prado Junior, Mario
Cardim.
56 Stuckenbruck (1996, pp. 86-88) chama a ateno para a
semelhana do discurso dos dois autores.
57 Ver meno ao acontecimento em Godoy (1943, p. 79).
Vale lembrar ainda que a comisso do Rotary Club que
pediria ao prefeito a contratao de um estrangeiro para
elaborar o plano era integrada, entre outros, por Mattos
Pimenta.
58 Este diagnstico fora feito antes por Mattos Pimenta.
59 Vale a pena repetir aqui a primeira medida de salvao
pblica proposta por Mattos Pimenta em 1926, no seu
discurso As favellas: sustar imediatamente a constru-
o de novos casebres, evitando assim o progresso das
atuais favelas e a criao de novas.
60 Abreu (1994, pp. 42-43) lembra que havia tambm quem
defendesse a favela. A glorificao do samba e de seus
personagens teria contribudo, nas dcadas de 1920-
1930, para dar s favelas um status potico; tambm a
ecloso do movimento modernista, valorizando as te-
mticas nativas e as estticas brasileiras, seria positiva
favela.
30 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
61 O livro de Conniff (1981, p. 117), que discute a adminis-
trao de Pedro Ernesto e suas reformas sociais, oferece
uma explicao possvel para a ambivalncia dos pode-
res pblicos em relao favela: Pedro Ernestos social
reforms were largely designed to help integrate the poor
into urban society, the promise of his populist coalition.
If the poor, and especially the favelados, were the people
who validated the new government, they merited progra-
ms that would make them good citizens and productive
members of society. This approach appealed to the midd-
le sectors, for it would eliminate the threat of social
conflict and simultaneously create new jobs in the emer-
ging professions. Thus Rios reformism of the 1920s
flowered in the 1930s, in a milieu of optimistic social
planning.
62 A mais completa discusso do Cdigo de obras e da lei
das favelas encontra-se no trabalho pioneiro de Conn
(1968), estranhamente pouqussimo citado. No se co-
nhece, no entanto, a discusso entre os engenheiros e
os advogados que teria levado redao do referido
cdigo.
63 Como lembra Abreu (1994, p. 43), a Revoluo de 30
vai deixar a favela relativamente em paz. Em algumas
instncias, vai at mesmo socorrer os seus habitantes,
defendendo-os contra a ao dos proprietrios de ter-
ras, contribuindo assim para forjar a imagem de Getlio
Vargas como o pai dos pobres.
64 Leeds e Leeds (1978, pp. 191-192) ressaltam este ponto.
65 Foi o caso, por exemplo, de Charles Booth, um dos mais
conhecidos reformadores sociais ingleses, que era tam-
bm estatstico e foi um pioneiro no estabelecimento de
uma linha de pobreza, posteriormente utilizada na
Inglaterra pela poltica social. Ver o seu Life and labour
of the people in London, publicado originalmente em
1889 e includo na coltnea dos trabalhos de Booth
organizada por Fried e Elman (1971).
66 Esta mesma estimativa havia sido feita por Mattos
Pimenta em seus discursos.
67 Victor Tavares de Moura foi membro da Comisso para
Higienizao das Favelas entre 1941 e 1944 e diretor do
Departamento de Assistncia Social entre 1944 e 1947.
Segundo entrevista realizada com sua filha, Maria Coeli
Tavares de Moura, o mdico pernambucano era concu-
nhado de Agamenon Magalhes, que em 1939 montara
em Recife a Liga Social contra o Mocambo, campanha
anterior poltica dos Parques Proletrios do Rio de
Janeiro. Agradeo a cpia do documento Esboo de
um plano para o estudo e soluo do problema das
favelas no Rio de Janeiro que me foi gentilmente
cedido.
68 Infelizmente no disponho dos nomes das favelas pes-
quisadas, pois s tive acesso ao texto citado na biblio-
grafia (Moura, 1943) e no verso final do relatrio
citado por Parisse (1969a) e Leeds e Leeds (1978).
69 Parisse (1969a, p. 68) no fornece os nmeros que
gostaramos de ter. Apenas fala da sensao que
deflagraram, principalmente nos jornais favorveis ao
governo Vargas.
70 O livro de Valla et ai. (1986) justamente intitulado
Educao e favela, e insiste sobre a dimenso educaci-
onal das vrias propostas de interveno nas favelas
cariocas.
71 A importncia da eficincia muito clara para Silva
(1942, p. 45): A questo das favelas empolga o gover-
no, no momento; se ns a resolvermos, impor-nos-
emos, e ensinaremos a todos o quanto podemos reali-
zar. Se nos desempenharmos bem, outras tarefas nos
sero confiadas e nosso campo de ao se estender.
72 Utilizo aqui o termo desmontada e no removida por
ser a linguagem da poca.
73 De acordo com o levantamento de teses sobre o Rio de
Janeiro realizado pelo Urbandata, vrios dos trabalhos
de final de curso realizados nos anos 1940,1950 e 1960,
antes de serem criados programas de ps-graduao no
pas, poderiam ser considerados como teses.
74 Vrios autores se referem a esse trabalho, entre os quais
Parisse (1969a), Leeds e Leeds, (1978) e Valla et al.
(1986), mas o mesmo no mereceu ainda a anlise
detalhada que lhe devida.
75 A autora d voz a uma antiga moradora que relata o que
sabia sobre a origem do Largo da Memria. Cf. Silva
(1942, p. 20).
76 No existe nenhuma referncia no texto origem desses
dados. Como, ento, a Prefeitura os teria obtido?
77 A proposta de desmonte do Largo da Memria expli-
citada detalhadamente pela autora, sendo o livro uma
fonte preciosa tambm para a reconstituio da histria
das primeiras intervenes governamentais na favela.
No entanto, as anlises feitas at agora sobre a poltica
dos Parques Proletrios no fizeram uso suficiente do
referido documento.
78 O texto de Maria Luiza Muniz de Arago (1949), tambm
assistente social atuando nos anos 40, mostra que esses
atores j estavam em vrias favelas atuando em Centros
de Ao Social vinculados Fundao Leo XIII.
79 As imagens e representaes da pobreza no Brasil, do
final do sculo XIX aos anos 1980, so discutidas em
Valladares (1991).
80 Segundo Guimares (1953, p. 253), os dados dispon-
veis em 1920 eram: morro da Favella, 839 domiclios e 6
casas de negcios; morro do Salgueiro, 190 domiclios;
Arrelia, 6; Cantagalo, 16; Babilnia, 59; morro de So
Joo, 63 domiclios. Neste trabalho o autor apresenta
dados oriundos dos recenseamentos de 1821, 1838,
1872, 1890, 1906, 1920 e 1940 relativos ao crescimento
da populao do Distrito Federal. Os dados existentes
referem-se apenas populao urbana, suburbana e
total e densidade domiciliria. Nos recenseamentos de
1920 e 1940 no existe nenhuma meno s favelas.
81 Mais uma vez, vale a pena fazer meno ao Primeiro
Congresso Brasileiro de Urbanismo, realizado em 1941.
82 Ver Censo das Favelas de 1949.
83 O prefeito tinha como secretrio-geral de Administrao
Francisco Negro de Lima, que ser, no final da dcada
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 31
de 60, governador do Estado do Rio e apoiar a poltica
de remoo de favelas promovida pela CHISAM e pelo
governo federal via BNH.
84 Agradeo a Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro pelo acesso
cpia do Censo das Favelas de 1949, publicado pela
Prefeitura do Distrito Federal.
85 Ver Censo das Favelas de 1949, p. 7.
86 Diz o documento que os 14 ncleos excludos corres-
pondiam a aglomerados em terrenos com situao
legalizada, de propriedade dos prprios moradores, ou
comprimidos numa mesma unidade topogrfica mas
com denominaes diferentes.
87 Ver a este respeito a anlise cuidadosa feita por Guima-
res (1953), que inclusive compara os resultados deste
censo da Prefeitura com os resultados do Censo Demo-
grfico de 1950. Dentre os anexos aparece a lista das
favelas recenseadas em 1948 e 1950. importante
ressaltar que Guimares escreve em nome do Servio
Nacional de Recenseamento para o qual trabalhava.
88 Os aglomerados de favela recebem atualmente a deno-
minao oficial de aglomerados subnormais, tambm
utilizada em outras cidades do Brasil.
89 Devemos sempre fazer a conexo da SAGMACS com o
padre francs Joseph Lebret, introdutor no Brasil do
movimento Economia e Humanismo. A pesquisa rea-
lizada no Rio foi orientada pelo padre, dirigida tecnica-
mente pelo socilogo Jos Arthur Rios e coordenada
pelo tambm socilogo Carlos Alberto de Medina. Sobre
a influncia da SAGMACS na pesquisa urbano-regional
no Brasil ver Lamparelli (1995).
90 Analisarei a contribuio das cincias sociais para a
construo da representao social da favela em uma
prxima publicao.
91 Essa constatao baseia-se na anlise das bibliografias
que constam de dissertaes, teses, artigos e relatrios
de pesquisa nessa rea, reconhecendo, claro, as
excees regra.
92 Grande parte da memria bibliogrfica da favela de
difcil recuperao devido ao desaparecimento de parte
do material junto com algumas bibliotecas do SER-
PHAU, do CENPHA e do Centro Latino-Americano de
Pesquisas em Cincias Sociais, que j no existem e
s dificuldades para sua consulta hoje na Biblioteca
Nacional, onde at mesmo as cpias xerox so proibi-
das. Vale lembrar ainda que muitos documentos
relatrios oficiais e teses, por exemplo foram produ-
zidos num tempo em que somente poucos exemplares
eram exigidos e a multiplicao de cpias era dificultada
pela tecnologia. Em depoimento concedido por Eliza-
beth Leeds fiquei sabendo que todo o extenso material
bibliogrfico sobre favelas coletado por Anthony Leeds
durante suas vrias e longas estadas no Brasil encontra-
se na Biblioteca da Universidade de Harvard, nos EUA.
BIBLIOGRAFIA
*
Bibliografia geral
ABREU, Regina. (1998), O enigma de Os sertes. Rio
de Janeiro, Funarte/ Rocco.
AGACHE, Alfred. (1930), Cidade do Rio de Janeiro:
extenso remodelao embelezamento.
Rio de Janeiro, Prefeitura do Distrito Federal.
AZEVEDO, Alusio. (1890), O cortio. So Paulo,
Martins.
BACKHEUSER, Everardo. (1906), Habitaes popula-
res. Relatrio apresentado ao Exm. Sr. Dr. J.J.
Seabra, ministro da Justia e Negcios Interio-
res. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.
BARRET-DUCROCQ, Franoise. (1991), Pauvret,
charit et morale Londres au XIXe sicle: une
sainte violence. Paris, PUF.
BENCHIMOL, Jaime Larry. (1982), Pereira Passos: um
Haussmann tropical. Tese de mestrado em
Planejamento Urbano, COPPE/ UFRJ.
BRESCIANI, Maria Stella M. (1984), Londres eParis no
sculo XIX; o espetculo da pobreza. 2
edio,
So Paulo, Brasiliense.
BRETAS, Marcos Luiz. (1997), A guerra das ruas; povo
e polcia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro, Arquivo Nacional.
CARVALHO, Jos Murilo de. (1987), Os bestializados;
o Rio de Janeiro e a Repblica que no foi. So
Paulo, Companhia das Letras.
CARVALHO, Lia de Aquino. (1986), Contribuio ao
estudo das habitaes populares: Rio de Janei-
ro, 1886-1906. Rio de Janeiro, Secretaria Muni-
cipal de Cultura, Departamento Geral de Do-
cumentao e Informao Cultural, Diviso de
Editorao.
CHALHOUB, Sidney. (1996), Cidade febril; cortios e
epidemias na Corte imperial. So Paulo, Com-
panhia das Letras.
CHESNEY, Kellow. (1982), The Victorian underworld.
Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books.
* A bibliografia completa sobre a favela carioca, coletada
pelo Banco de Dados Urbandata, ser brevemente
publicada em Valladares e Medeiros (no prelo). As
referncias mencionadas abaixo apenas se referem s
fontes citadas neste artigo, classificadas em bibliografia
geral e bibliografia sobre favelas.
32 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
CONNIFF, Michael. (1981), Urban politics in Brazil:
the rise of populism, 1925-1945. Pittsburgh,
University of Pittsburgh Press.
COSTA PINTO, L.A. (1953), O negronoRiodeJaneiro
relaes de raa numa sociedade em mu-
dana. So Paulo, Companhia Editora Nacio-
nal. Reeditado em 1998 no Rio de Janeiro pela
Editora da UFRJ, com introduo de Marcos
Chor Maio.
CUNHA, Euclides da. (1968 [1902]), Os sertes. Rio de
Janeiro, Livraria Francisco Alves.
EDMUNDO, Luiz. (1938), O Rio de Janeiro do meu
tempo. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.
FALCO, Edgard de Cerqueira. (1971), Oswaldo Cruz
Monumenta Historica. Tomo I: A incompreen-
so de uma poca. So Paulo, Brasiliensia
Documenta.
FRIED, Albert e ELMAN, Richard. (1971), Charles
Booths London. Harmondsworth, Penguin
Books.
FUNDAO GETLIO VARGAS. Centro de Pesquisa
e Documentao de Histria Contempornea
do Brasil. (1984), Dicionrio histrico-biogr-
fico brasileiro, 1930-1983. Israel Beloch e Alzi-
ra Alves de Abreu (coords.). Rio de Janeiro,
Forense Universitria/ CPDOC-FGV/ Finep.
GARCIA, Marcia J. de O. e FRSTENEAU, Vera M.
(1995), O acervo de Euclides da Cunha na
Biblioteca Nacional. Campinas/ Rio de Janeiro,
Editora da Unicamp/ Fundao Biblioteca Na-
cional.
GODOY, Armando Augusto de. (1943), A URBs eseus
problemas. Rio de Janeiro, Jornal do Commer-
cio.
GOMES, Angela de Castro e FERREIRA, Marieta de
Moraes. (1987), Industrializao e classe tra-
balhadora no Rio de Janeiro: novas perspecti-
vas de Anlise. BIB BoletimInformativo e
Bibliogrfico de Cincias Sociais, 24, 2 semes-
tre: 11-40.
HERSCHMANN, Micael e PEREIRA, Carlos Alberto
Messeder. (1994), A inveno do Brasil moder-
no. Medicina, educao e engenharia nos
anos 20-30. Rio de Janeiro, Rocco.
HERSCHMANN, Micael, KROPF, Simone e NUNES,
Clarice. (1996), Missionrios do progresso: m-
dicos, engenheiros e educadores no Rio de
Janeiro 1870-1937. Rio de Janeiro, Diado-
rim.
HIMMELFARB, Gertrude. (1984), The idea of poverty;
England in the early industrial age. Londres/
Boston, Faber and Faber.
HOCHMAN, Gilberto. (1998a), A era do saneamento;
as bases da poltica de sade pblica no Brasil.
So Paulo, Hucitec/ Anpocs.
__________. (1998b), Logo ali, no final da avenida:
Os sertes redefinidos pelo movimento sanita-
rista da Primeira Repblica. Histria, Cinci-
as, Sade Manguinhos, 5, Suplemento, ju-
lho: 217-35.
JONES, Gareth Stedman. (1976), Outcast London: a
study in the relationship between classes in
victorian society. Harmondsworth, Middlesex,
Penguin Books.
KROPF, Simone Petraglia. (1996), Sonho da razo,
alegoria da ordem: o discurso dos engenheiros
sobre a cidade do Rio de Janeiro no final do
sculo XIX e incio do sculo XX, in M.
Herschmann, S. Kropf e C. Nunes (orgs.),
Missionrios do progresso: mdicos, engenhei-
ros e educadores no Rio de Janeiro 1870-
1937, Rio de Janeiro, Diadorim.
LAMPARELLI, Celso Monteiro. (1995), Louis-Joseph
Lebret e a pesquisa urbano-regional no Brasil.
Cadernos de Pesquisa do LAP, 5, mar.-abr.: 27-
54.
LECLERC, Grard. (1979), Lobservation de lhomme;
une histoire des enqutes sociales. Paris, Editi-
ons du Seuil.
LIMA, Nsia Trindade. (1999), Um serto chamado
Brasil: intelectuais e representao geogrfica
da identidade nacional. Rio de Janeiro, Re-
van/ Iuperj/ UCAM.
OLIVEIRA, Lcia Lippi. (1999), Interpretaes sobre
o Brasil, in S. Miceli (org.), O que ler na
cincia social brasileira, So Paulo, Sumar/
Anpocs.
PECHMAN, Robert Moses. (1996), O urbano fora do
lugar? Transferncias e tradues de idias
urbansticas nos anos 20, in L.C.Q. Ribeiro e
R. Pechman (orgs.), Cidade, povo e nao, Rio
de Janeiro, Civilizao Brasileira.
PEREIRA, Margareth da Silva. (1989), A cidade plani-
ficada: o discurso dos mdicos e a noo de
interesse pblico entre o Imprio e a Repbli-
ca o caso do Rio de Janeiro. Conferncia
pronunciada no seminrio Centenrio da Re-
pblica.
A GNESE DA FAVELA CARIOCA 33
__________. (1996), Pensando a metrpole moder-
na: os planos de Agache e Le Corbusier para o
Rio de Janeiro, in L.C.Q. Ribeiro e R. Pechman
(orgs.), Cidade, povo e nao, Rio de Janeiro,
Civilizao Brasileira.
REIS, Irene Monteiro. (1971), Bibliografia de Euclides
deCunha. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do
Livro.
REZENDE, Vera Lcia Ferreira Motta. (1982), Planeja-
mento urbano e ideologia: quatro planos para
a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
Civilizao Brasileira.
RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. (1997), Dos cortios
aos condomnios fechados: as formas de pro-
duo da moradia na cidade do Rio de Janei-
ro. Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira/
IPPUR-UFRJ/ FASE.
ROCHA, Oswaldo Porto. (1986), A era das demoli-
es: cidade do Rio de Janeiro: 1870-1920. Rio
de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura,
Departamento Geral de Documentao e In-
formao Cultural, Diviso de Editorao.
SILVA, Eduardo. (1988), As queixas do povo. Rio de
Janeiro, Paz e Terra.
SILVA, Lucia Helena Pereira da. (1995), Engenheiros,
arquitetos e urbanistas: a histria da elite buro-
crtica na cidade do Rio de Janeiro 1920/
1945. Tese de mestrado em Planejamento
Urbano, IPPUR/ UFRJ.
__________. (1996), A trajetria de Alfred Donat
Agache no Brasil, in L.C.Q. Ribeiro e R. Pech-
man (orgs.), Cidade, povo e nao, Rio de
Janeiro, Civilizao Brasileira.
STUCKENBRUCK, Denise Cabral. (1996), Plano Aga-
che e o iderio reformista dos anos 20. Rio de
Janeiro, Observatrio de Polticas Urbanas,
IPPUR-UFRJ/ FASE.
VALLADARES, Licia. (1991), Cem anos pensando a
pobreza (urbana) no Brasil, in R. Boschi (ed.),
Corporativismo e desigualdade; a construo
do espao pblico no Brasil, Rio de Janeiro,
Iuperj/ Rio Fundo.
VAZ, Lillian Fessler. (1986), Notas sobre o Cabea de
Porco. Revista Rio de Janeiro, 1, 2, jan.-abr.:
29-35.
ZILLY, Berthold. (1998), A guerra como painel e
espetculo. A histria encenada em Os sertes.
Histria, Cincias, Sade Manguinhos, Su-
plemento especial, julho: 13-37.
Bibliografia sobre a favela
ABREU, Maurcio de. (1994), Reconstruindo uma
histria esquecida: origem e expanso das
favelas do Rio de Janeiro. Espao & Debates,
37: 34-46.
ABREU, Maurcio de e VAZ, Lilian Fessler. (1991),
Sobre a origem das favelas. Trabalho apresen-
tado ao IV Encontro Nacional da ANPUR,
Salvador.
ARAGO, Maria Luiza Muniz de. (1949), Favela
vivem ou vegetam as 1.111 famlias da Barreira
do Vasco?. Servio Social, 54: 65-75.
BERNARDES, Lysia Maria Cavalcanti. (1958), Pesca-
dores da Ponta do Caju: aspectos da contribui-
o de portugueses e espanhis para o desen-
volvimento da pesca na Guanabara. Revista
Brasileira de Geografia, 20, 2, abr.-jun.: 49-69.
BONILLA, Frank. (1961), Rios favelas. The rural slum
within the city. Reports Service, 8, 3: 1-15.
CONN, Stephen. (1968), The squatters rights of
favelados. Cincias Econmicas e Sociais, 3,
2, dez.: 50-142.
COSTALLAT, Benjamim. (1995), A favela que eu vi,
in B. Costallat, Mistrios do Rio, Rio de Janeiro,
Secretaria Municipal de Cultura, Departamento
Geral de Documentao e Informao Cultu-
ral, Diviso de Editorao.
GOULART, Jos Alipio. (1957), As favelas do Distrito
Federal. Rio de Janeiro, Servio de Informao
Agrcola, Ministrio da Agricultura.
GUIMARES, Alberto Passos. (1953), As favelas do
Distrito Federal. Revista Brasileira de Estatsti-
ca, 55, jul.-set.: 250-78.
LEEDS, Anthony. (1969), The significant variables
determining the character of squatter settle-
ments. Amrica Latina, 12, 3, jul.-set.: 44-86.
LEEDS, Anthony e LEEDS, Elizabeth. (1978), A Socio-
logia do Brasil urbano. Rio de Janeiro, Zahar
Editores.
MARIANO FILHO, Jos, AMARANTE, Alberto Pires e
CAMPELO, Americo. (1941), As favelas do
Rio de Janeiro. Trabalho apresentado no Pri-
meiro Congresso Brasileiro de Urbanismo, or-
ganizado pelo Departamento de Urbanismo
do Centro Carioca, Rio de Janeiro.
34 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
44
MATTOS PIMENTA, Jos Augusto de. (1926), Para a
remodelao do Rio de Janeiro. Discursos pro-
nunciados no Rotary Club do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, Rotary Club.
MOURA, Vitor Tavares de. (1943), Favelas do Distrito
Federal, in Aspectos do Distrito Federal, Rio de
Janeiro, Academia Carioca de Letras, Grfica
Sauer.
OLIVEIRA, Jane Souto de e MARCIER, Maria Hortense.
(1998), A palavra : favela, in A. Zaluar e M.
Alvito (orgs.), Um sculo de favela, Rio de
Janeiro, Fundao Getulio Vargas.
PARISSE, Lucien. (1969a), Favelas do Rio deJaneiro
evoluo sentido. Rio de Janeiro, Centro
Nacional de Pesquisas Habitacionais (Caderno
do CENPHA, 5).
__________. (1969b), Las favelas en la expansin
urbana de Rio de Janeiro estudo geogrfi-
co. Amrica Latina, 12, 3, jul.-set.: 7-43.
__________. (1969c), Bibliografia cronolgica sobre
a favela do Rio de Janeiro a partir de 1940.
Amrica Latina, 12, 3, jul.-set.: 221-32.
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. (1937), Cdi-
go de obras de 1937. Rio de Janeiro, Prefeitura
do Distrito Federal.
__________. (1949), Censo das favelas; aspectos ge-
rais. Rio de Janeiro, Secretaria Geral do Interi-
or e Segurana, Departamento de Geografia e
Estatstica.
RIO, Joo do. (1911), Os livres acampamentos da
misria, in L. Martins (org.), Joo do Rio (uma
antologia), Rio de Janeiro, Instituto Nacional
do Livro/ Sabi.
SAGMACS. (1960), Aspectos humanos da favela cari-
oca. O Estado de So Paulo, suplementos
especiais, abril.
SILVA, Maria Hortncia do Nascimento e. (1942),
Impresses de uma assistente social sobre o
trabalho na favela. Rio de Janeiro, Prefeitura
do Distrito Federal, Secretaria Geral de Sade e
Assistncia, Grfica Sauer.
TASCHNER, Suzana Pasternack. (1997), Favelas e
cortios no Brasil: 20 anos de pesquisas e
polticas. Cadernos de Pesquisa do LAP, 18,
mar.-abr.
VALLA, Victor Vincent et al. (1986), Educao e
favela; polticas para as favelas do Rio de Janei-
ro 1940-1985. Petrpolis, Vozes/ Abrasco.
VALLADARES, Licia do Prado e MEDEIROS, Lidia. (no
prelo), O que j se sabe sobre a favela carioca:
uma bibliografia comentada. Rio de Janeiro,
Urbandata/ Iuperj/ UCAM.
VAZ, Lilian Fessler. (1994), Dos cortios s favelas e
aos edifcios de apartamentos a moderniza-
o da moradia no Rio de Janeiro. Anlise
Social Revista do Instituto de Cincias Soci-
ais da Universidade de Lisboa, 24, 127: 581-97.
ZALUAR, Alba e ALVITO, Marcos. (1998), Umsculo
de favela. Rio de Janeiro, Fundao Getlio
Vargas.
ZYLBERBERG, Sonia (coord.). (1992), Morro da Pro-
vidncia: memrias da favella. Rio de Janei-
ro, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Esportes, Departamento Geral de Documenta-
o e Informao Cultural (Coleo Memria
das Favelas, vol.1).
Você também pode gostar
- Cidade e História - José DAssunção BarrosDocumento125 páginasCidade e História - José DAssunção Barrosdejalmafr100% (2)
- Identidade nacional e modernidade brasileiraNo EverandIdentidade nacional e modernidade brasileiraNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- BENJAMIN, Walter - Magia e Tecnica Arte e Politica (Obras Escolhidas, V.1)Documento257 páginasBENJAMIN, Walter - Magia e Tecnica Arte e Politica (Obras Escolhidas, V.1)Joao Castelo Branco100% (7)
- Laplantine - A Descrição EtnográficaDocumento67 páginasLaplantine - A Descrição Etnográficadot_andy100% (3)
- Castro, Iná Elias, Geografia e Política PDFDocumento149 páginasCastro, Iná Elias, Geografia e Política PDFIvanilson LimaAinda não há avaliações
- O Veado FloridoDocumento2 páginasO Veado FloridoClara BenedettoAinda não há avaliações
- VALLADARES, Lícia. A Gênese Da FavelaDocumento30 páginasVALLADARES, Lícia. A Gênese Da FavelaGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- Cópia de Carolina Maria de Jesus BiografiaDocumento28 páginasCópia de Carolina Maria de Jesus BiografiaAs AmefrikanasAinda não há avaliações
- Resumo A Invenção Da FavelaDocumento3 páginasResumo A Invenção Da FavelaRosangela SilvaAinda não há avaliações
- A Antropologia Urbana No BrasilDocumento12 páginasA Antropologia Urbana No BrasilmarianaAinda não há avaliações
- BORA, Zélia FREITAS, M. N. Negrismo e Modernismo. A Crítica Cultural de Raul Bopp em UrucungoDocumento14 páginasBORA, Zélia FREITAS, M. N. Negrismo e Modernismo. A Crítica Cultural de Raul Bopp em UrucungoVitor DiasAinda não há avaliações
- Modernismo e A Questão Nacional PDFDocumento4 páginasModernismo e A Questão Nacional PDFAriany Ribeiro AmorimAinda não há avaliações
- 2.artigo - Monica Pimenta Velloso PDFDocumento19 páginas2.artigo - Monica Pimenta Velloso PDFdany8309Ainda não há avaliações
- ABUD Katia Maria - O Sangue Intimorato e As Nobilíssimas Tradições - A Construção de Um Síbolo Paulista - o BandeiranteDocumento244 páginasABUD Katia Maria - O Sangue Intimorato e As Nobilíssimas Tradições - A Construção de Um Síbolo Paulista - o BandeiranteDanielAinda não há avaliações
- Notas Sobre As Ciencias SociaisDocumento14 páginasNotas Sobre As Ciencias SociaisDavid Soares100% (1)
- Oespetaculodasracas FichamentoDocumento13 páginasOespetaculodasracas Fichamentoidi_leiteAinda não há avaliações
- Sensacionalismo e ModernidadeDocumento14 páginasSensacionalismo e ModernidadeAna Carolina Carvalho GuimarãesAinda não há avaliações
- Brasil-Afro: História, historiografia, teoria do conhecimento em história. Escritos forjados na negaçãoNo EverandBrasil-Afro: História, historiografia, teoria do conhecimento em história. Escritos forjados na negaçãoAinda não há avaliações
- Modernidade e Mescla Cultural - Beatriz SarloDocumento6 páginasModernidade e Mescla Cultural - Beatriz SarloMoiiicaAinda não há avaliações
- A Relevância Da Literatura Como Missão HistóricaDocumento6 páginasA Relevância Da Literatura Como Missão HistóricaEdgarGonzálezGalánAinda não há avaliações
- Conferencia O Lugar Da Educacao Do NegroDocumento16 páginasConferencia O Lugar Da Educacao Do NegroWilliam AssumpçãoAinda não há avaliações
- Luiz Felipe de Alencastro. Não Sabem Dizer Coisa CertaDocumento5 páginasLuiz Felipe de Alencastro. Não Sabem Dizer Coisa Certabeja11Ainda não há avaliações
- Sociabilida Do Homem SimplesDocumento7 páginasSociabilida Do Homem SimplesVictor FariasAinda não há avaliações
- Norma Marinovic Doro PDFDocumento8 páginasNorma Marinovic Doro PDFMilan PuhAinda não há avaliações
- O Modernismo Paulista Não É A TotalidadeDocumento6 páginasO Modernismo Paulista Não É A TotalidaderenatodellacapamAinda não há avaliações
- Essa Gente Do Rio Os Intelectuais Cariocas e o ModernismoDocumento16 páginasEssa Gente Do Rio Os Intelectuais Cariocas e o ModernismoGabriel Vitorino SobreiraAinda não há avaliações
- Caricatura Henfil Vanguarda e A Arte EngDocumento8 páginasCaricatura Henfil Vanguarda e A Arte Engdai77Ainda não há avaliações
- Reflexão Sobre o Conceito de ModernismoDocumento5 páginasReflexão Sobre o Conceito de ModernismoJuliana Santos de SousaAinda não há avaliações
- O Espetáculo Das RaçasDocumento10 páginasO Espetáculo Das Raçasluzylima5942100% (1)
- Entre o(s) passado(s) e o(s) futuro(s) da cidade: Um ensaio de história urbana no brasil meridionalNo EverandEntre o(s) passado(s) e o(s) futuro(s) da cidade: Um ensaio de história urbana no brasil meridionalAinda não há avaliações
- Caderno Resumos Parte I SimposiosDocumento136 páginasCaderno Resumos Parte I SimposiosManu PortoAinda não há avaliações
- Historia Cultura Portugal - ResumosDocumento64 páginasHistoria Cultura Portugal - ResumosAna Beatriz Alves MartinsAinda não há avaliações
- Benito Martinez Rodriguez: Provided by Universidade de Brasília: Portal de Periódicos Da UnbDocumento15 páginasBenito Martinez Rodriguez: Provided by Universidade de Brasília: Portal de Periódicos Da UnbWindson TrevizoliAinda não há avaliações
- Análise Os CorumbasDocumento20 páginasAnálise Os CorumbasEvandroAinda não há avaliações
- TEXTO 02 - História e Natureza em Von MartiusDocumento19 páginasTEXTO 02 - História e Natureza em Von MartiusCleberson Fonseca SilvaAinda não há avaliações
- PASSIANI, E. Na Trilha Do Jeca - Monteiro Lobato, o Público Leitor...Documento18 páginasPASSIANI, E. Na Trilha Do Jeca - Monteiro Lobato, o Público Leitor...Julio T BragaAinda não há avaliações
- CPDOC - RevistaDocumento16 páginasCPDOC - RevistaMonike BrazAinda não há avaliações
- Cultura É o QueDocumento15 páginasCultura É o QueFabiana RuizAinda não há avaliações
- O Modernismo Brasileiro: Outros Enredos, Personagens e PaisagensDocumento15 páginasO Modernismo Brasileiro: Outros Enredos, Personagens e PaisagensJanaArqueoAinda não há avaliações
- Depois de Junho A Paz Será TotalDocumento85 páginasDepois de Junho A Paz Será TotallorenamfAinda não há avaliações
- Emanoel, 2272Documento16 páginasEmanoel, 2272brunabinsfeld19Ainda não há avaliações
- Inteletuais e Artistas Brasileiros Nos Anos 1960 1970 Entre A Pena e o Fuzil LMarcelo RidentiDocumento12 páginasInteletuais e Artistas Brasileiros Nos Anos 1960 1970 Entre A Pena e o Fuzil LMarcelo RidentiNicolás F. MurianoAinda não há avaliações
- ROSA, Thais - Pensar Por MargensDocumento30 páginasROSA, Thais - Pensar Por MargensFRANCISCO SA BARRETO DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Adm,+517 1800 1 CEDocumento8 páginasAdm,+517 1800 1 CEVanessaRodriguesAinda não há avaliações
- TransferirDocumento21 páginasTransferirsantiago.ufgAinda não há avaliações
- Plano de Aula Brasil IIIDocumento12 páginasPlano de Aula Brasil IIIMariana Figueredo de SouzaAinda não há avaliações
- Antrop. Urbn, Unidade 4.Documento24 páginasAntrop. Urbn, Unidade 4.Ozaias RodriguesAinda não há avaliações
- Luz e Papel, Realidade e Imaginação As Biografias Na História, No Jornalismo, Na Literatura e No CinemaDocumento17 páginasLuz e Papel, Realidade e Imaginação As Biografias Na História, No Jornalismo, Na Literatura e No CinemaJr Thiago BrandãoAinda não há avaliações
- Artigo - Gomes Essa Gente Do Rio... Os Intelectuais Cariocas e o Modernismo (Angela Castro) PDFDocumento15 páginasArtigo - Gomes Essa Gente Do Rio... Os Intelectuais Cariocas e o Modernismo (Angela Castro) PDFFelipe DrummondAinda não há avaliações
- COSTA, Marisa Vorraber e Outros. Estudos Culturais, Educação e Pedagogia PDFDocumento26 páginasCOSTA, Marisa Vorraber e Outros. Estudos Culturais, Educação e Pedagogia PDFÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Estudos Culturais, Educação e PedagogiaDocumento26 páginasEstudos Culturais, Educação e PedagogialoreAinda não há avaliações
- Os Cariocas Por SérgioPorto Artigo de Claudia - MesquitaDocumento11 páginasOs Cariocas Por SérgioPorto Artigo de Claudia - MesquitaAndré RochaAinda não há avaliações
- A Cidade de Curitiba No Discurso de ViajantesDocumento35 páginasA Cidade de Curitiba No Discurso de ViajantesAirsonAinda não há avaliações
- Cidade Alta: História, memória e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de JaneiroNo EverandCidade Alta: História, memória e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de JaneiroAinda não há avaliações
- Artigo Civilização e BarbárieDocumento25 páginasArtigo Civilização e BarbárieFlávia OliveiraAinda não há avaliações
- Um Olhar Sobre o Feminino Na DramaturgiaDocumento23 páginasUm Olhar Sobre o Feminino Na DramaturgiaVania NogueiraAinda não há avaliações
- O Modernismo e A Questão NacionalDocumento6 páginasO Modernismo e A Questão NacionalMichel Rocha NunesAinda não há avaliações
- Homens de Letras No Rio de Janeiro Nos Anos 30 e 40-DesbloqueadoDocumento204 páginasHomens de Letras No Rio de Janeiro Nos Anos 30 e 40-DesbloqueadoVictor EmmanuelAinda não há avaliações
- Curitiba - República Das Letras - 1870 1920Documento27 páginasCuritiba - República Das Letras - 1870 1920eloigiovaneAinda não há avaliações
- Roberto Reis - Por Uma Arqueologia Do ModernismoDocumento15 páginasRoberto Reis - Por Uma Arqueologia Do ModernismoRodrigo Octávio Cardoso100% (1)
- A Infância Culpada e A Pobreza Como Crime Na CidadeDocumento9 páginasA Infância Culpada e A Pobreza Como Crime Na CidadeRenata QuinhonesAinda não há avaliações
- CULTURA POPULAR-vivian CatenacciDocumento15 páginasCULTURA POPULAR-vivian CatenacciTiffany SouzaAinda não há avaliações
- A Confederação Nagô-Macamba-Malunga dos Abolicionistas: O Movimento Social Abolicionista no Rio de Janeiro e as Ações Políticas de Libertos e Intelectuais Negros na Construção de um Projeto de Nação Para o Pós-Abolição no BrasilNo EverandA Confederação Nagô-Macamba-Malunga dos Abolicionistas: O Movimento Social Abolicionista no Rio de Janeiro e as Ações Políticas de Libertos e Intelectuais Negros na Construção de um Projeto de Nação Para o Pós-Abolição no BrasilAinda não há avaliações
- Narrativas em foco: estudos interdisciplinares em humanidades: - Volume 2No EverandNarrativas em foco: estudos interdisciplinares em humanidades: - Volume 2Ainda não há avaliações
- BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política 07-33-50 PDFDocumento128 páginasBENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política 07-33-50 PDFGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política 07-33-50 PDFDocumento128 páginasBENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política 07-33-50 PDFGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- Aleksandr Sierguêievitch Púchkin - Pequenas TragédiasDocumento86 páginasAleksandr Sierguêievitch Púchkin - Pequenas TragédiasGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- Alexandre Herculano - Eurico o Presbitero PDFDocumento144 páginasAlexandre Herculano - Eurico o Presbitero PDFGuilherme Borges100% (1)
- CASTRO, Eduardo Viveiros de - Arawete - Os Deuses CanibaisDocumento744 páginasCASTRO, Eduardo Viveiros de - Arawete - Os Deuses CanibaisJosé Mauro Garboza JuniorAinda não há avaliações
- ERNEST, Renan. O Que É Uma NaçãoDocumento17 páginasERNEST, Renan. O Que É Uma NaçãoGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- VELHO, Gilberto. Nobres e Anjos (Livro Completo) PDFDocumento113 páginasVELHO, Gilberto. Nobres e Anjos (Livro Completo) PDFGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- Escola de Chicago Por Howard BeckerDocumento12 páginasEscola de Chicago Por Howard BeckerThemisinha100% (3)
- FINLEY, Moses I. Escravidão Antiga e A Ideologia ModernaDocumento10 páginasFINLEY, Moses I. Escravidão Antiga e A Ideologia ModernaGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- VEIGA, José Eli Da. O Brasil Rural Ainda Não Encontrou Seu Eixo de Desenvolvimento PDFDocumento19 páginasVEIGA, José Eli Da. O Brasil Rural Ainda Não Encontrou Seu Eixo de Desenvolvimento PDFGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- ALLAN POE, Edgar - Contos de Imaginação e Mistério PDFDocumento386 páginasALLAN POE, Edgar - Contos de Imaginação e Mistério PDFGuilherme Borges100% (2)
- FINLEY, Moses I. Grécia Primitiva-Idade Do Bronze Cap 4, 5 e 6 PDFDocumento22 páginasFINLEY, Moses I. Grécia Primitiva-Idade Do Bronze Cap 4, 5 e 6 PDFGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- FILHO, Kleber Prado - Uma Breve Genealogia Das Práticas Juridicas No Ocidente PDFDocumento8 páginasFILHO, Kleber Prado - Uma Breve Genealogia Das Práticas Juridicas No Ocidente PDFGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- Fisiologia Das Citomembranas Liquidos CorporaisDocumento14 páginasFisiologia Das Citomembranas Liquidos CorporaisMaria BelmarAinda não há avaliações
- Shakes Anabolicos para Ganhar Massa MuscularDocumento47 páginasShakes Anabolicos para Ganhar Massa MuscularHenrique Souza xcffAinda não há avaliações
- AutoestimaDocumento2 páginasAutoestimaJosy Anne CarvalhoAinda não há avaliações
- Rotina de Exercícios para A VozDocumento3 páginasRotina de Exercícios para A VozCEMAM SDAinda não há avaliações
- Controle de Tráfego Versao ADocumento28 páginasControle de Tráfego Versao ARenata MirellyAinda não há avaliações
- As Estereotipias O Que São 2023 Por Ivanilson GomesDocumento5 páginasAs Estereotipias O Que São 2023 Por Ivanilson GomesIvanilson Gomes CostaAinda não há avaliações
- (Artigo) Prática de Atividade Física de Policiais Militares de Santa Catarina. Uma Revisão Da Literatura - Gustavo CardosoDocumento14 páginas(Artigo) Prática de Atividade Física de Policiais Militares de Santa Catarina. Uma Revisão Da Literatura - Gustavo CardosoErandy CostaAinda não há avaliações
- Cabala - O Lado Oculto Do JudaísmoDocumento18 páginasCabala - O Lado Oculto Do Judaísmojaciaradamasceno36Ainda não há avaliações
- Parte-2 - 50 Exercicios de Escala - vrs2.00Documento6 páginasParte-2 - 50 Exercicios de Escala - vrs2.00Fernando GonzálezAinda não há avaliações
- Cuidados Com A VisaoDocumento4 páginasCuidados Com A VisaoCPSSTAinda não há avaliações
- U1 - Atividade de Aprendizagem - Metodos MatematicosDocumento6 páginasU1 - Atividade de Aprendizagem - Metodos MatematicosGabriel DuarteAinda não há avaliações
- Aula 01 - Introdução de Investigação Geotécnica PDFDocumento12 páginasAula 01 - Introdução de Investigação Geotécnica PDFRoberta RicardoAinda não há avaliações
- Geografia. 8bfinal 2022Documento2 páginasGeografia. 8bfinal 2022joaquim pfumoAinda não há avaliações
- 2010 - FAZENDA, Ivani Interdisciplinaridade e TransdisciplinaridadeDocumento11 páginas2010 - FAZENDA, Ivani Interdisciplinaridade e TransdisciplinaridadeMaria Cristina Lima RosaAinda não há avaliações
- Certificado INMETRO 3C PropolymerDocumento4 páginasCertificado INMETRO 3C PropolymerMarcos SiqueiraAinda não há avaliações
- Normas de Desenho TecnicoDocumento26 páginasNormas de Desenho Tecnicodércio nevesAinda não há avaliações
- Catálogo EurostecDocumento27 páginasCatálogo EurostecLeonardoAinda não há avaliações
- Guia Pratico para Calculo de Linha de Vida e Restricao para Industria Da ConstrucaoDocumento89 páginasGuia Pratico para Calculo de Linha de Vida e Restricao para Industria Da ConstrucaoAndreArmanini100% (1)
- 3 ProvaDocumento17 páginas3 ProvaLucianaNunesAinda não há avaliações
- C. ElegansDocumento5 páginasC. ElegansCatia BarrosoAinda não há avaliações
- Treino Bumbum GG CasaDocumento7 páginasTreino Bumbum GG CasaLuana BrianyAinda não há avaliações
- Trabalho de Historia 11 ClasseDocumento12 páginasTrabalho de Historia 11 ClassePaulo Benigno Xavier100% (1)
- A Voz RadiofônicaDocumento4 páginasA Voz RadiofônicaMirian QuadrosAinda não há avaliações
- 2024 - Anamnese Clinica AdultoDocumento3 páginas2024 - Anamnese Clinica Adultojaneteabbas90Ainda não há avaliações
- Perigos Do Canal Radicular - The Weston A. Price FoundationDocumento16 páginasPerigos Do Canal Radicular - The Weston A. Price Foundationjosé raimundo barbosa dos santosAinda não há avaliações
- DatasheetDocumento52 páginasDatasheetManoel BonfimAinda não há avaliações
- Historia Da Genetica ForenseDocumento12 páginasHistoria Da Genetica ForenseJéssica Paiva100% (1)
- Peixe PangaDocumento12 páginasPeixe PangaCamila SousaAinda não há avaliações
- Lista - Função Exponencial 1 AnoDocumento4 páginasLista - Função Exponencial 1 AnoMicaelle ChavesAinda não há avaliações