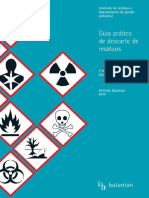Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
67 Abf 44
67 Abf 44
Enviado por
Pirâmide Dos TecidosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
67 Abf 44
67 Abf 44
Enviado por
Pirâmide Dos TecidosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ORIENTAES CURRICULARES ...............................................................
2
SADE INDIVIDUAL E COMUNITRIA
Planificao ....................................................................................................................... 6
Documentos de ampliao ........................................................................................ 8
Ficha de Trabalho n.
o
1 ................................................................................................ 12
Ficha de Trabalho n.
o
2 ................................................................................................ 14
TRANSMISSO DA VIDA
Planificao ....................................................................................................................... 18
Documentos de ampliao ........................................................................................ 21
Ficha de Trabalho n.
o
3 ................................................................................................ 26
Ficha de Trabalho n.
o
4 ................................................................................................ 28
Ficha de Trabalho n.
o
5 ................................................................................................ 30
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO
Planificao ....................................................................................................................... 34
Documentos de ampliao ........................................................................................ 38
Ficha de Trabalho n.
o
6 ................................................................................................ 46
Ficha de Trabalho n.
o
7 ................................................................................................ 48
Ficha de Trabalho n.
o
8 ................................................................................................ 50
Ficha de Trabalho n.
o
9 ................................................................................................ 52
CINCIA E TECNOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA
Planificao ....................................................................................................................... 56
Documentos de ampliao ........................................................................................ 58
Ficha de Trabalho n.
o
10 .............................................................................................. 61
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 63
ndice
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 1
2 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
ORIENTAES CURRICULARES
Para o estudo do tema Viver melhor na Terra, as experincias de aprendizagem que se propem
visam o desenvolvimento das seguintes competncias:
3Reconhecimento da necessidade de desenvolver hbitos de vida saudveis e de segurana, numa
perspectiva biolgica, psicolgica e social.
3Reconhecimento da necessidade de uma anlise crtica face s questes ticas de algumas das
aplicaes cientficas e tecnolgicas.
3Conhecimento das normas de segurana e de higiene na utilizao de materiais e equipamentos
de laboratrio e de uso comum, bem como respeito pelo seu cumprimento.
3Reconhecimento de que a tomada de deciso relativa a comportamentos associados sade e
segurana global influenciada por aspectos sociais, culturais e econmicos.
O quarto tema do programa de Cincias Naturais Viver melhor na Terra visa a compreenso de
que a qualidade de vida implica sade e segurana numa perspectiva individual e colectiva. A biotecno-
logia, rea relevante na sociedade cientfica e tecnolgica em que vivemos, ser um conhecimento
essencial para a qualidade de vida.
Ao longo dos trs ciclos de escolaridade, o tratamento deste tema desenvolve-se de acordo com o
seguinte esquema organizador:
FUNO ESTRUTURA
IDENTIDADE
DO CORPO
SISTEMAS ELECTRICIDADE ELECTRNICA
PREVENO RISCOS
ORGANISMO HUMANO
EQUILBRIO
NATURAL
CONTROLO E REGULAO
PROPRIEDADES ESTRUTURA
NOVOS
MATERIAIS
MATERIAIS
QUALIDADE DE VIDA
VIVER MELHOR
NA TERRA
SADE E SEGURANA
INDIVIDUAL COMUNITRIA
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 2
3
3Compreenso de como a cincia e a tecnologia tm contribudo para a melhoria da qualidade de vida.
3Compreenso do modo como a sociedade pode condicionar, e tem condicionado, o rumo dos avanos
cientficos e tecnolgicos na rea da sade e segurana global.
3Compreenso dos conceitos essenciais relacionados com a sade, utilizao de recursos e proteco
ambiental que devem fundamentar a aco humana no plano individual e comunitrio.
3Valorizao de atitudes de segurana e de proteco como condio essencial em diversos aspectos
relacionados com a qualidade de vida.
Ao longo do 9.
o
ano, pretende-se que a abordagem do tema Viver melhor na Terra seja orientada pelas
questes:
No mbito da disciplina de Cincias Naturais, as experincias de aprendizagem devero ser orientadas
de forma a promover:
3Discusso sobre a importncia da aquisio de hbitos individuais e comunitrios que contribuam para
a qualidade de vida.
3Discusso de assuntos polmicos nas sociedades actuais sobre os quais os cidados devem ter uma
opinio fundamentada.
3Compreenso de que o organismo humano est organizado segundo uma hierarquia de nveis que fun-
cionam de modo integrado e desempenham funes especficas.
3Avaliao e gesto de riscos e tomada de deciso face a assuntos que preocupam as sociedades,
tendo em conta factores ambientais, econmicos e sociais.
Adaptado de Orientaes Curriculares para o 3.
o
Ciclo do Ensino Bsico
e Currculo Nacional do Ensino Bsico Competncias Essenciais
O QUE SIGNIFICA
QUALIDADE DE VIDA?
DE QUE MODO
A CINCIA
E A TECNOLOGIA
PODEM CONTRIBUIR
PARA A MELHORIA
DA QUALIDADE
DE VIDA?
COMO SE PROCESSA
A CONTINUIDADE
E A VARIABILIDADE
DOS SISTEMAS?
QUE HBITOS INDIVIDUAIS CONTRIBUEM
PARA UMA VIDA SAUDVEL?
COMO SE CONTROLAM
E REGULAM OS SISTEMAS?
DE QUE MODO QUALIDADE DE VIDA
IMPLICA SEGURANA E PREVENO?
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 3
1.1
INDICADORES DO ESTADO
DE SADE DE UMA POPULAO
1.2
MEDIDAS DE PROMOO
DA SADE
SADE INDIVIDUAL
E COMUNITRIA
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 4
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 5
6 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
1. Sade individual
e comunitria
1.1 Indicadores do
estado de sade de
uma populao
1.1.1 Evoluo dos
conceitos de sade
e de doena
1.1.2 Principais
factores que
influenciam a sade
1.1.3 Indicadores do
estado de sade de
uma populao
3Taxa
de mortalidade
infantil
3Esperana mdia
de vida
3Taxa de doenas
infecto-contagiosas
3Taxa de doenas
cardiovasculares
3Taxa de obesidade
3Analisar, interpretar
e compreender informao
veiculada de diferentes modos.
3Realizar inferncias,
generalizaes e dedues.
3Demonstrar a capacidade
de expor e defender ideias.
3Pesquisar, seleccionar,
organizar
e comunicar informao.
3Realizar actividades de forma
autnoma, responsvel
e criativa.
3Usar correctamente a lngua
portuguesa.
3Usar adequadamente
diferentes tipos de linguagens.
3Utilizar novas tecnologias
de informao e comunicao.
3Rentabilizar as tecnologias de
informao e comunicao na
construo do saber e na sua
comunicao.
3Manifestar perseverana
e seriedade no trabalho.
3Apresentar atitudes e valores
inerentes ao trabalho
cooperativo.
3Cooperar com os outros em
projectos comuns.
3Adoptar metodologias
personalizadas de trabalho
e de aprendizagem adequadas
aos objectivos visados.
Compreender conceitos
essenciais relacionados com
a sade, utilizao de recursos
e proteco ambiental que
devem fundamentar a aco
humana no plano individual
e comunitrio
3 Reconhecer que o conceito de
sade sofreu alteraes ao
longo do tempo.
3 Enumerar factores que
influenciaram a evoluo
do conceito de sade.
3 Compreender o conceito actual
de sade (individual
e comunitria).
3 Compreender o conceito de
qualidade de vida.
3 Compreender que a sade
individual e comunitria
depende de factores individuais
e de factores ambientais,
socioeconmicos e culturais.
3 Compreender que a sade
e a qualidade de vida so
influenciadas pela relao que
se mantm com os outros
e com o ambiente.
3 Conhecer os principais factores
que influenciam a sade.
3 Compreender o conceito de
indicador do estado de sade
de uma populao.
3 Identificar indicadores do
estado de sade de uma
populao.
3 Inferir sobre o nvel de
desenvolvimento de uma
populao a partir da anlise de
indicadores do estado de sade.
Brainstorming sobre os
conceitos qualidade de vida
e sade.
Anlise crtica dos textos do
Manual (pginas 16, 27, 36 e 39).
Trabalho de grupo. Podero
ser propostos temas como
Influncia de prticas culturais
e sociais na sade das
populaes, Trabalho infantil,
Preveno de catstrofes
naturais, A relao entre
os diferentes tipos de poluio
e a sade das populaes
ou Importncia da vacinao
na preveno de doenas, por
exemplo.
Elaborao de um
questionrio. Os alunos podero
elaborar um questionrio sobre
os estilos de vida e aplic-lo na
comunidade escolar. Os
resultados podero ser
trabalhados e divulgados,
constituindo o ponto de partida
para a elaborao de outros
trabalhos e para promoo de
diversas campanhas de
sensibilizao.
Organizao de palestras ou
debates. Em colaborao com os
servios municipalizados, Centro
de Sade da regio ou outras
entidades, podero ser promovidas
palestras ou debates sobre
o destino dos resduos slidos
urbanos, o ordenamento do
territrio, a qualidade da gua da
rede pblica, a higiene e segurana
alimentar ou outros temas
relacionados com a promoo
da sade das populaes.
5
PLANIFICAO
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 6
SADE INDIVIDUAL E COMUNITRIA 7
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
1.2 Medidas de
promoo da sade
1.2.1 Hbitos de
vida saudveis
1.2.2 Melhoria das
condies de higiene
e salubridade
1.2.3 Ordenamento
do territrio
e qualidade
ambiental
1.2.4 Vacinao
1.2.5 Rastreios
1.2.6 Campanhas
de sensibilizao
3Respeitar regras de utilizao
de equipamentos e espaos.
3Assumir atitudes de
flexibilidade e de respeito face
a novas ideias.
3Manifestar sentido crtico.
Compreender a importncia
da aquisio de hbitos
individuais e comunitrios que
contribuam para a qualidade
de vida
3Reconhecer que a promoo
da sade se faz pela adopo
de medidas individuais
e colectivas.
3Reconhecer que as atitudes
e comportamentos individuais
influenciam a sade
comunitria.
3Conhecer medidas de
promoo de sade individuais
e colectivas.
3Compreender a importncia
de cada uma das medidas
de promoo de sade.
3Assumir atitudes promotoras
de sade individual e colectiva.
Promoo de rastreios.
Em colaborao com o Centro
de Sade da regio ou outras
entidades poder realizar-se
um rastreio auditivo, visual e/ou
de sade oral ou outro.
Avaliao do estado de
sade. Poder, de forma
simples, fazer em sala de aula
a avaliao do ndice de massa
corporal dos alunos. Com
a colaborao de tcnicos
de sade, esta actividade poder
ser alargada a toda ou a parte
da comunidade educativa com
a realizao de diversos testes
simples (glicemia, colesterol,
tenso arterial, etc.).
Anlise e discusso
de cartazes e de spots
publicitrios realizados
no mbito de campanhas
de sensibilizao
para determinadas doenas
e/ou comportamentos de risco.
Visitas de estudo
a instituies da regio com
responsabilidades na rea
da sade ou proteco civil.
Resoluo de actividades
do Manual.
Explorao de textos
existentes no Caderno de Apoio
ao Professor.
Explorao dos recursos
propostos no Manual
Multimdia
3
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 7
8 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
DOCUMENTOS DE AMPLIAO
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
1
Eu juro, por Apolo, mdico, por
Esculpio, Higeia e Panacea, e tomo por
testemunhas todos os deuses e de todas
as deusas, cumprir, segundo meu poder
e minha razo, a promessa que se segue:
estimar, tanto quanto a meus pais, aque-
le que me ensinou esta arte; fazer vida
comum e, se necessrio for, com ele par-
tilhar meus bens; ter seus filhos por
meus prprios irmos; ensinar-lhes esta
arte, se eles tiverem necessidade de
aprend-la, sem remunerao e nem
compromisso escrito; fazer participar
dos preceitos, das lies e de todo o resto
do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discpulos ins-
critos segundo os regulamentos da profisso, porm, s a
estes.
Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o
meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal
a algum. A ningum darei por comprazer, nem remdio
mortal nem um conselho que induza a perda. Do mesmo
modo, no darei a nenhuma mulher
uma substncia abortiva.
Conservarei imaculada minha vida e
minha arte.
No praticarei a talha, mesmo sobre
um calculoso confirmado; deixarei essa
operao aos prticos que disso cuidam.
Em toda a casa, a entrarei para o
bem dos doentes, mantendo-me longe
de todo o dano voluntrio e de toda a
seduo sobretudo longe dos prazeres
do amor, com as mulheres ou com os
homens livres ou escravizados.
quilo que no exerccio ou fora do
exerccio da profisso e no convvio da sociedade, eu tiver
visto ou ouvido, que no seja preciso divulgar, eu conservarei
inteiramente secreto.
Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me
seja dado gozar felizmente da vida e da minha profisso,
honrado para sempre entre os homens; se eu dele me afastar
ou infringir, que o contrrio me acontea.
JURAMENTO DE HIPCRATES
Considerado o pai da medicina, Hipcrates associado ao juramento hipocrtico, prestado pelos mdi-
cos antes de iniciarem a sua profisso, embora seja possvel que no tenha sido ele o autor do documento.
Existem vrias verses do juramento de Hipcrates, algumas mais semelhantes verso original, outras
mais adaptadas actualidade. Apresentam-se de seguida duas dessas verses.
Verso 1
No momento de me tornar um profissional mdico:
Prometo solenemente dedicar a minha vida a servio da
Humanidade.
Darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento
que lhes so devidos.
Exercerei a minha arte com conscincia e dignidade.
A sade do meu paciente ser minha primeira preocupa-
o.
Mesmo aps a morte do paciente, respeitarei os segredos
que a mim foram confiados.
Manterei, por todos os meios ao meu alcance, a honra da
profisso mdica.
Verso 2
Hipcrates
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 8
SADE INDIVIDUAL E COMUNITRIA 9
Os meus colegas sero meus irmos.
No deixarei de exercer o meu dever de tratar o paciente
em funo de idade, doena, deficincia, crena religiosa, ori-
gem tnica, sexo, nacionalidade, filiao poltico-partidria,
raa, orientao sexual, condies sociais ou econmicas.
Terei respeito absoluto pela vida humana e jamais farei
uso dos meus conhecimentos mdicos contra as leis da
Humanidade.
Fao essas promessas solenemente, livremente e sob a
minha honra.
Adaptado de http://www.gineco.com.pt
e http://diarioda deusa. com.sapo.pt
Tpicos de discusso
3Resumir as principais obrigaes de um mdico para com o seu paciente.
3Reflectir em que medida este juramento pode colidir com as exigncias da sociedade actual, nomeada-
mente, na aplicao da lei portuguesa e na preveno de doenas contagiosas.
Tpicos de discusso
3Reflectir sobre a importncia do desenvolvimento de uma vacina contra a malria.
3Reflectir sobre a importncia das parcerias internacionais no desenvolvimento da cincia.
3Pesquisar acerca do trabalho da biloga Maria Mota sobre a malria.
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
2
A malria, doena provocada
pela infeco pelo parasita
Plasmodium, atinge extensas
reas na frica, sia, Amrica
Central e Amrica do Sul. Esta
doena devastadora, afec-
tando anualmente cerca de
300 milhes de pessoas, das
quais, mais de 3 milhes mor-
rem. As tentativas de erradicao da doena tm sido, at
data, infrutferas. Este insucesso pode ser atribudo crescen-
te resistncia do vector de transmisso da doena, a fmea do
mosquito Anopheles, aos insecticidas e aos medicamentos.
Contudo, uma nova esperana surgiu. O Centro de
Investigao em Sade da Manhia (CISM), Moambique,
anunciou, em Outubro de 2007, a descoberta da vacina mais
avanada do mundo que sem efeitos secundrios, reduz
em 65% as novas infeces em bebs por um perodo de trs
meses e em 35% os episdios clnicos da malria, ao final de
seis meses aps a primeira dose de tratamento, disse em
Maputo o investigador moambicano, Pedro Aide.
Para que esta vacina, denominada RTS,S/ASO2D, seja
internacionalmente aceite e licenciada, tero ainda de ser
feitos mais ensaios, envolvendo
milhares de pessoas.
As pesquisas que levaram
descoberta da referida vacina
resultam de uma parceria interna-
cional envolvendo pesquisadores
moambicanos do CISM e espa-
nhis do Centro de Investigao
em Sade Internacional de
Barcelona (CRESIB), apoio tcnico de uma empresa farma-
cutica norte-americana e apoio financeiro da Fundao Bill
e Melinda Gates.
Em Portugal, a malria tambm investigada, nomea-
damente, na Unidade de Malria do Instituto de Medicina
Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa, por uma
equipa de investigadores liderada pela Professora Doutora
Maria Manuel Mota. Estes investigadores procuram desen-
volver novas estratgias de combate doena, estudando as
interaces que se estabelecem entre o parasita e o hospe-
deiro (Homem). A identificao de protenas do hospedeiro
que facilitam ou combatem a infeco, no s permitir cla-
rificar os mecanismos bsicos da infeco por malria, como
abrir novos horizontes para a sua teraputica.
VACINA DA MALRIA
Adaptado de http://www.cienciahoje.pt
e http://cientic. com
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 9
10 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
3
A diabetes uma doena
caracterizada pela existncia de
nveis de glicose no sangue supe-
riores aos valores normais (hiper-
glicmia).
A hiperglicmia tem origem
numa perturbao da actuao de
uma hormona, a insulina, produzida
pelo pncreas. Em condies nor-
mais, a insulina promove a passa-
gem da glicose do sangue para as
clulas, que a utilizam na produ-
o de energia. Nos casos em que a
insulina no seja produzida ou que
as clulas no lhe respondam, a
glicose mantm-se no sangue e
origina a hiperglicmia.
Existem dois tipos principais de
diabetes: a diabetes de tipo I e a diabetes de tipo II.
A diabetes tipo I deve-se falta de insulina no organismo,
devido destruio das clulas do pncreas que a produzem.
Geralmente, esta destruio ocorre porque o sistema imuni-
trio do indivduo reage contra essas clulas.
A diabetes do tipo II, mais frequente (cerca de 90% dos
casos), surge porque as clulas no respondem ou respon-
dem mal insulina. Geralmente existe uma predisposio
gentica para esta resistncia aco da insulina, sendo
mais provvel, por isso, o desenvolvimento de diabetes de
tipo II em pessoas que tm antecedentes familiares. A obesi-
dade e o sedentarismo so factores que facilitam o desenvol-
vimento deste tipo de diabetes.
A glicose em excesso no sangue causa perturbaes ao
organismo. Os diabticos apresentam alteraes no funcio-
namento dos rins e da retina que
podem levar cegueira. Assiste-se
igualmente a um aumento da ten-
dncia para a aterosclerose, o que
pode originar enfartes em vrios
rgos, nomeadamente, no cora-
o e no crebro (AVC isqumico),
e a alteraes no funcionamento
dos nervos. A complicao mais
frequente das alteraes nervosas
o p-diabtico. Nesta situao,
os diabticos no sentem trauma-
tismos nos ps e podem ter feridas
sem que delas se apercebam. Caso
as feridas infectem, tm dificulda-
de em cicatrizar e, muitas vezes,
necessrio recorrer a amputaes
para que a infeco no provoque
a morte do doente devido a septicmia.
Os diabticos tm de seguir uma dieta alimentar rigoro-
sa que permita reduzir os acares, gorduras saturadas, sal e
lcool e aumentar o consumo de fibras, legumes, frutos e
peixe. Os diabticos devem ainda eliminar o consumo de
tabaco, fazer exerccio fsico, controlar o peso e evitar as
situaes de stresse.
Os diabticos do tipo I necessitam de receber insulina
injectvel, obtida a partir de pncreas de porco ou produzida
com recurso a tcnicas de engenharia gentica.
Os diabticos tipo II costumam conseguir controlar a
doena atravs da seleco dos alimentos e recorrendo a
medicamentos (que no insulina). Estes frmacos actuam no
pncreas, estimulando a produo de insulina e facilitam a
sua aco nas clulas.
DIABETES
Tpicos de discusso
3Distinguir a diabetes do tipo I da diabetes do tipo II.
3Reconhecer o papel da hormona insulina no organismo.
3Reconhecer as limitaes e os cuidados de sade que os diabticos devem seguir.
3Reflectir sobre os factores que esto na origem da diabetes.
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 10
SADE INDIVIDUAL E COMUNITRIA 11
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
4
Apesar de, pela primeira vez, o nme-
ro de mortes ter baixado para menos de
10 milhes, este nmero ainda significa
que mais de 26 mil crianas morrem
todos os dias, a maior parte das quais de
causas evitveis ou ultrapassveis de
uma forma barata, como o uso de
redes contra mosquitos ou a aplicao
de planos de vacinao.
A Unicef alertou que, apesar dos
avanos recentes, a frica, o sul da sia e
o Mdio Oriente no se encontram no
caminho para cumprir a meta fixada pela ONU, de reduzir a
mortalidade das crianas em dois teros entre 1990 e 2015,
para menos de 5 milhes de mortes por ano.
A dimenso do desafio no deveria ser subestimada,
disse a agncia no seu relatrio anual, o Estado das Crianas
do Mundo.
Segundo a organizao, o maior desafio encontra-se
ainda por ultrapassar: tentar aumentar a expectativa de vida
das crianas em pases assolados por epidemias de SIDA e
nos quais h governos fracos e sistemas de sade muito defi-
cientes.
A frica subsaariana est numa situao pior do que em
1990, respondendo hoje por 49% das mortes de crianas com
menos de 5 anos, e apenas por 22% dos nascimentos. Em
cada seis crianas nascidas nessa empobrecida regio, uma
morre antes dos 5 anos de idade.
A partir de 1990, segundo o relatrio,
quase metade dos 46 pases da frica
subsaariana registaram uma taxa de
mortalidade infantil estvel ou em
expanso.
Apenas trs pases Cabo Verde,
Eritreia e as Ilhas Seichelles se encon-
tram no caminho para atingir a meta
estipulada para 2015.
No h espao para sermos com-
placentes. Precisamos esforar-nos
mais para aumentar o acesso aos trata-
mentos mdicos e aos recursos de preveno, para enfrentar
o impacto devastador da pneumonia, da diarreia, da malria,
da desnutrio grave e do HIV, disse a directora-executiva
da Unicef, Ann Veneman.
As crianas dos pases em desenvolvimento costumam
sucumbir a infeces respiratrias ou diarreias, que no so
fatais nos pases ricos. Muitas morrem tambm devido a
sarampo e outras doenas que podem ser evitadas atravs
de campanhas de vacinao. A ingesto de gua no potvel
e as condies precrias de saneamento provocam ainda um
grande nmero de doenas e de mortes, especialmente
entre as crianas subnutridas. No entanto, medidas simples
e exequveis, como o aleitamento materno, a vacinao e a
colocao de redes mosquiteiras nas camas podem reduzir
drasticamente o nmero de mortes entre as crianas, afir-
mou a Unicef.
Adaptado de Dirio Digital, 22-01-2008
UNICEF: MORREM 10 MILHES DE CRIANAS/ANO MENORES DE 5 ANOS
Cerca de 9,7 milhes de crianas morrem todos os anos antes de completar 5 anos de idade devido
a doenas como a pneumonia e a malria, mas medidas simples conseguiriam salvar muitas dessas vidas,
afirmou o Fundo das Naes Unidas para a Infncia (Unicef).
Tpicos de discusso
3Reflectir sobre as causas da mortalidade infantil em frica e as suas consequncias nos planos tico,
social e econmico.
3Discutir o papel das organizaes humanitrias, dos polticos e dos cidados comuns no combate mor-
talidade infantil em pases subdesenvolvidos.
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 11
12 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
FICHA DE TRABALHO N.
O
1 SADE INDIVIDUAL E COMUNITRIA
Competncias:
3Distinguir os tipos de factores que influenciam a sade.
3Referir indicadores de sade.
3Explicar o significado dos indicadores de sade.
3Relacionar os indicadores de sade com o desenvolvimento econmico, social e educacional
das populaes.
3Enunciar medidas de promoo da sade.
3Explicar a importncia dos rastreios na promoo da sade.
1. Os factores que influenciam a sade podem ser classificados como individuais (condies intrnsecas
e comportamentais) ou comunitrios (ambientais, scio-culturais e econmicos).
1.1 Das seguintes afirmaes, assinala com FI as que so relativas a factores individuais e com FC as que
se referem a factores comunitrios.
A. Lavar os dentes aps cada refeio.
B. Viver em locais muito poludos.
C. Habitar em locais com rede de saneamento pblico.
D. Consumir tabaco e outras drogas.
E. Fazer uma alimentao equilibrada.
F. Praticar desporto regularmente.
G. Ter acesso a uma boa rede pblica de cuidados de sade.
H. Dormir ao som de msica.
I. Colocar o lixo dentro de sacos de plstico bem fechados e deposit-los no interior do caixote do lixo.
J. Existir recolha regular e tratamento adequado do lixo domstico.
1.2 Selecciona as afirmaes que revelam atitudes promotoras da sade.
2. Analisa atentamente o quadro seguinte onde se indicam alguns dados sobre quatro pases.
2.1 Indica, dos dados apresentados, os que constituem indicadores do estado de sade das populaes.
2.2 Refere outros indicadores do estado de sade.
N.
o
DE HABITANTES
(milhes)
EXTENSO DA
COSTA MARTIMA
(km)
TMI
()
TAXA DE VIH/SIDA
(%)
ESPERANA
MDIA DE VIDA
(anos)
A 190 7491 27,0 0,7 72
B 20 2470 109,9 12,2 42
C 127 29751 2,8 0,1 82
D 10 66,5 4,2 0,2 79
DADOS
PASES
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 12
SADE INDIVIDUAL E COMUNITRIA 13
2.3 Explica o que significa afirmar que o pas A tem uma TMI de 27,0.
2.4 Selecciona a opo que completa correctamente a afirmao:
O facto de no pas C a esperana mdia de vida ser de 82 anos significa que
a. todos os habitantes deste pas vivem 82 anos.
b. a maioria dos habitantes deste pas vivem mais do que 82 anos.
c. em mdia, os habitantes deste pas vivem 82 anos.
d. os habitantes deste pas deixam de trabalhar aos 82 anos.
e. neste pas no existem pessoas com mais do que 82 anos.
2.5 Apresenta uma justificao para a elevada taxa de incidncia de VIH/SIDA entre a populao do pas B.
2.6 Compara as taxas de mortalidade infantil verificadas nos pases B e C.
2.6.1 Apresenta as razes que podero explicar a diferena encontrada entre as taxas de mortalidade
infantil destes dois pases.
2.7 Infere sobre o grau de desenvolvimento do pas C. Justifica a tua resposta.
2.8 Ordena os quatros pases por ordem crescente de desenvolvimento econmico-social.
3. As taxas de obesidade e de doenas cardiovasculares constituem bons indicadores de sade. Contudo,
estes indicadores apenas so aplicveis em pases desenvolvidos.
3.1 Explica o que entendes por indicador de sade.
3.2 Justifica o facto dos indicadores referidos no texto apenas serem aplicveis em pases desenvolvidos.
4. L atentamente o texto seguinte sobre rastreios.
Com a evoluo tecnolgica e a possibilidade de interveno teraputica, o lema prevenir para curar
adquiriu uma dimenso que no pode ser descurada em termos de sade pblica. A oftalmologia uma das
especialidades que trata um conjunto de patologias que, pela sua relevncia na preveno da cegueira, justi-
fica que se implementem rastreios e se faam campanhas de informao e educao para a sade, aprovei-
tando-se a oportunidade para distribuir material informativo diverso.
Adaptado de http://www.medicosdeportugal.iol.pt
4.1 Refere qual o rastreio divulgado no texto.
4.2 Explica o significado do lema prevenir para curar.
4.3 As aces de rastreio podem desempenhar um papel muito importante na promoo da sade. Com
base no texto, comenta esta afirmao.
4.4 Indica trs outras medidas de promoo da sade, para alm dos rastreios.
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 13
14 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
FICHA DE TRABALHO N.
O
2 SADE INDIVIDUAL E COMUNITRIA
Competncias:
3Compreender o significado dos indicadores de sade.
3Relacionar os indicadores de sade com o desenvolvimento econmico, social e educacional
das populaes.
3Conhecer as causas e as consequncias da obesidade.
3Enunciar medidas de preveno da obesidade.
3Relacionar o ordenamento do territrio com o nvel de sade e a qualidade de vida.
1. Um dos principais indicadores do estado de sade de uma populao a taxa de mortalidade infantil.
Analisa atentamente o grfico seguinte, que evidencia a taxa de mortalidade infantil, em 2007, verifi-
cada em diversos pases.
Sucia
Nambia
ndia
Costa Rica
Colmbia
Chade
Canad
Austrlia
Argentina
Alemanha
2,76
47,23
4,57
14,29
102,07
20,13
34,61
9,45
4,08
4,63
Fonte: The World Factbook Pases
0 40 20
80 60 100 120
TMI ()
Moambique
109,93
1.1 Indica o pas que apresenta a maior taxa de mortalidade infantil.
1.2 Selecciona a opo que completa correctamente a afirmao:
Na Austrlia, em 2007, a TMI foi de 4,57, ou seja
a. morreram 457 crianas com menos de um ano por cada 100 mil bebs vivos que nasceram.
b. em 2007 morreram quase 5 crianas.
c. em cada 100 nascimentos, mais de 4 crianas com menos de um ano morreram.
d. na Austrlia a maior parte das crianas que morrem tm quase 5 anos.
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 14
SADE INDIVIDUAL E COMUNITRIA 15
1.3 Selecciona as opes que completam correctamente a afirmao:
No Chade, a TMI pode ser explicada
a. pela eficaz assistncia mdica s grvidas.
b. pela m nutrio das mes e dos recm-nascidos.
c. pelas ms condies de habitabilidade.
d. pelo bom plano de vacinao existente no pas.
e. pelo deficiente acompanhamento mdico aos recm-nascidos.
1.4 Indica quatro caractersticas da Sucia que permitam justificar a TMI verificada neste pas.
2. No quadro seguinte relacionam-se alguns indicadores de sade com o grau de desenvolvimento dos pases.
Preenche-o com os smbolos (+) e (-) para indicar, respectivamente, valor elevado e valor reduzido.
3. L atentamente a notcia seguinte.
A Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO) defende a restrio da publicidade televisi-
va de alimentos hipercalricos durante a programao infanto-juvenil para combater o excesso de peso que
atinge cerca de um tero das crianas. Tem de haver legislao no sentido de restringir a publicidade a
produtos alimentares desequilibrados em termos nutricionais que apresenta como saudveis, energticos e
potenciadores do crescimento, alimentos empacotados com alto teor de gordura, acar e conservantes,
disse agncia Lusa, Carla Rego, coordenadora do Grupo de Estudo da Obesidade Peditrica da SPEO.
Entre os 600 menores seguidos na consulta de nutrio infantil do Hospital de So Joo (Porto), 7,5%
apresentam alteraes do metabolismo da glicose, um estado de pr-diabetes, e 1,2% sofrem de diabetes
tipo II, nmeros que a especialista diz serem assustadores.
Para combater a obesidade, classificada pela OMS como a epidemia do sculo XXI, a SPEO considera que
no suficiente restringir o apelo ao consumo e reclama programas de educao alimentar transversais a
toda a sociedade. Alm de campanhas de sensibilizao junto das crianas, esta entidade defende ainda a
aprovao urgente de legislao que defina quais os alimentos disponveis nas mquinas de venda autom-
tica existentes nas escolas.
Adaptado de Lusa 08-02-2006
3.1 A obesidade um grave problema de sade pblica.
3.1.1 Indica as principais causas da obesidade.
3.1.2 Refere consequncias da obesidade.
3.2 Explica a importncia de restringir a publicidade dirigida s crianas.
3.3 Explica qual poder ser o papel da escola na preveno da obesidade.
4. A requalificao das reas urbanas, a reformulao da rede viria, a criao e beneficiao de jardins e
outros espaos de lazer, so algumas das principais preocupaes dos municpios portugueses. Explica em
que medida o ordenamento do territrio pode constituir uma medida promotora de sade.
INDICADOR
TIPO DE PASES
TAXA DE MORTALIDADE
INFANTIL
ESPERANA
MDIA DE VIDA
TAXA
DE OBESIDADE
Pases desenvolvidos
Pases subdesenvolvidos
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 15
2.1
BASES MORFOLGICAS
E FISIOLGICAS
DA REPRODUO HUMANA
2.2
NOES BSICAS
DE HEREDITARIEDADE
TRANSMISSO DA VIDA
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 16
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 17
18 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
PLANIFICAO
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
2. Transmisso
da vida
2.1 Bases
morfolgicas e
fisiolgicas da
reproduo
2.1.1 Organizao
dos organismos
2.1.2 Principais
diferenas entre
homens e mulheres
2.1.3 Constituio
do sistema
reprodutor humano
3Sistema
reprodutor
masculino
3Sistema
reprodutor
feminino
2.1.4 Incio da vida
2.1.5 Sexualidade
2.1.6 Mtodos
contraceptivos
2.1.7 Infeces
sexualmente
transmissveis
3SIDA
3Herpes genital
3Hepatite B
3 Utilizar os saberes cientficos
para compreender a realidade.
3 Analisar, interpretar
e compreender informao
veiculada de diferentes modos.
3 Realizar inferncias,
generalizaes e dedues.
3 Demonstrar a capacidade
de expor e defender ideias.
3 Pesquisar, seleccionar,
organizar informao para a
transformar em conhecimento
mobilizvel.
3 Realizar actividades de forma
autnoma, responsvel
e criativa.
3 Usar correctamente a lngua
portuguesa.
3 Usar adequadamente
diferentes tipos de linguagens.
3 Utilizar novas tecnologias
de informao e comunicao.
3 Rentabilizar as tecnologias
de informao e comunicao
na construo do saber e na
sua comunicao.
3 Manifestar perseverana
e seriedade no trabalho.
3 Apresentar atitudes e valores
inerentes ao trabalho
cooperativo.
3 Cooperar com os outros em
projectos comuns.
Reconhecer a necessidade de
desenvolver hbitos de vida
saudveis e de segurana,
numa perspectiva biolgica,
psicolgica e social
3 Reconhecer que o organismo
humano est organizado
segundo uma hierarquia de
nveis que funcionam de modo
integrado.
3 Distinguir os caracteres sexuais
primrios dos caracteres
sexuais secundrios.
3 Identificar os caracteres
sexuais secundrios.
3 Compreender a diferena entre
os conceitos de puberdade
e de adolescncia.
3 Conhecer a morfologia
e fisiologia geral do sistema
reprodutor humano.
3 Compreender o ciclo sexual
feminino (ciclo ovrico e ciclo
uterino).
3 Identificar hormonas
masculinas e femininas.
3 Compreender, de forma
genrica, o papel das hormonas
sexuais.
3 Compreender os fenmenos
de fecundao e de nidao.
3 Reconhecer a sexualidade
como uma das dimenses
da existncia humana.
Brainstorming sobre
o conceito de sexualidade.
Esta actividade possibilitar
discutir no s o conceito
de sexualidade mas tambm
as possveis diferenas entre
a forma como os rapazes e as
raparigas vm a sexualidade.
Poder ainda ser feita
a comparao entre o conceito
de sexualidade definido pela
turma com o a definio da OMS
(pgina 68 do Manual).
Explorao de filmes sobre
a fecundao e desenvolvimento
embrionrio, tcnicas
de reproduo assistida
e clonagem.
Anlise crtica dos textos
do Manual (pginas, 65, 78, 98
e 101).
Actividade experimental.
Realizao do trabalho prtico
de isolamento de ADN, proposto
no Manual.
Trabalho de grupo
de pesquisa bibliogrfica sobre
vrias temticas importantes
na adolescncia, como
as transformaes do corpo,
a construo da identidade
sexual ou os comportamentos
de risco. Nesta unidade podero
ser ainda propostos temas como
A Sexualidade, Mtodos
contraceptivos, Infeces
sexualmente transmissveis,
Reproduo medicamente
assistida, Clonagem,
Organismos geneticamente
modificados ou Aplicaes
da biotecnologia no quotidiano.
12
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 18
TRANSMISSO DA VIDA 19
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
2.2 Noes bsicas
de hereditariedade
2.2.1 Localizao
do material gentico
na clula
2.2.2 Mecanismo
de transmisso
dos caracteres
hereditrios
2.2.3
Hereditariedade
humana
3Mecanismo
de determinao
do sexo na espcie
humana
2.2.4 Aplicaes
dos conhecimentos
de gentica
no quotidiano
3Organismos
geneticamente
modificados
3Riscos dos
organismos
geneticamente
modificados
3Clonagem
3Riscos da clona-
gem
3 Adoptar metodologias
personalizadas de trabalho
e de aprendizagem adequadas
aos objectivos visados.
3 Respeitar regras de utilizao
de equipamentos e espaos.
3 Manipular com destreza
material laboratorial.
3 Assumir atitudes
de flexibilidade e de respeito
face a novas ideias.
3 Avaliar criticamente atitudes
desenvolvidas pela
comunidade.
3 Manifestar sentido crtico.
3 Assumir atitudes de cidadania
responsvel.
3 Compreender os problemas
associados gravidez na
adolescncia.
3 Conhecer os mtodos
contraceptivos e respectiva
actuao.
3 Conhecer infeces
sexualmente transmissveis.
3 Identificar as vias de
transmisso do vrus da SIDA
e de outras IST.
3 Assumir atitudes responsveis
na preveno da SIDA e de
outras IST.
Discutir assuntos polmicos
nas sociedades actuais sobre
os quais os cidados devem ter
uma opinio fundamentada
3 Reconhecer que cada espcie
possui um conjunto de
caractersticas prprias.
3 Reconhecer a existncia de
variabilidade entre os indivduos
da mesma espcie.
3 Localizar o material gentico
na clula.
3 Relacionar termos como
cromossoma, cromatina,
ADN e gene.
3 Compreender o mecanismo
da transmisso de informao
hereditria.
3 Relacionar os termos gentipo
e fentipo.
3 Interpretar rvores
genealgicas.
3 Compreender o mecanismo de
determinao do sexo na
espcie humana.
Estes trabalhos podero ser
divulgados comunidade
escolar sob a forma de folhetos
ou cartazes, constituindo uma
forma de sensibilizao da
mesma ou, ainda, constiturem
contedos a integrar na
plataforma e-learning da escola.
Recolha de testemunhos.
Poder ser proposto aos alunos
a recolha de testemunhos
acerca da gravidez na
adolescncia e as suas
consequncias ou a realizao
de pequenos
filmes ou peas de teatro em
que se aborde a temtica.
Anlise e discusso
de notcias veiculadas
na comunicao social sobre
os avanos e aplicaes da
biotecnologia.
Organizao de palestras
ou debates. Em colaborao
com o Centro de Sade da
regio, podero ser promovidas
sesses sobre temticas
relacionadas com a sexualidade
responsvel e os afectos.
De modo a que estas sesses
respondam melhor s dvidas
dos alunos, estes podero ser
convidados a colocar
previamente questes a debater
durante a sesso.
Visitas de estudo. Podero ser
organizadas visitas de estudo
a estaes de melhoramento
de plantas, a unidades
industriais que faam uso
da biotecnologia, a estaes
de tratamento de guas
residuais ou a instituies
que faam uso de processos
biolgicos.
10
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 19
20 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
3 Reconhecer a evoluo do
conhecimento cientfico na rea
da gentica.
3Explicar o que so OGM e clones.
3Conhecer, genericamente,
tcnicas de produo de OGM
e de clonagem.
3Identificar aplicaes da gentica
e da biotecnologia.
3Reconhecer a existncia de
restries de natureza tica na
investigao cientfica.
3Conhecer benefcios e riscos das
aplicaes da biotecnologia.
Resoluo de actividades
do Manual.
Explorao de textos
e actividades existentes no
Caderno de Apoio ao Professor.
Explorao dos recursos
propostos no Manual Multimdia
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 20
TRANSMISSO DA VIDA 21
DOCUMENTOS DE AMPLIAO
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
O
5
No h estrelas no cu
A doirar o meu caminho
Por mais amigos que tenha
Sinto-me sempre sozinho
De que vale ter a chave
De casa para entrar
Ter uma nota no bolso
Para cigarros e bilhar
A Primavera da vida bonita de viver
To depressa o sol brilha como a seguir est a chover
Para mim hoje Janeiro est um frio de rachar
Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar
Passo horas no caf
Sem saber para onde ir
Tudo volta to feio
S me apetece fugir
Vejo-me noite no espelho
O corpo sempre a mudar
De manh ouo o conselho
Que o velho tem para me dar
(Refro)
Vou por a s escondidas
A espreitar s janelas
Perdido nas avenidas
E achado nas vielas
Me o meu amor
Foi um trapzio sem rede
Sai da frente por favor
Estou entre a espada e a parede
No vs como isto duro
Ser jovem no um posto
Ter de encarar o futuro
Com borbulhas no rosto
Porque que tudo incerto
No pode ser sempre assim
Se no fosse o rock and roll
O que seria de mim?
NO H ESTRELAS NO CU
(Letra: Carlos T. Msica: Rui Veloso)
(Refro)
Tpicos de discusso
3Encontrar na letra da cano as principais caractersticas dos adolescentes.
3Reflectir sobre as principais transformaes que ocorrem no perodo da adolescncia.
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 21
22 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
O
7
As afirmaes seguintes reflectem mitos sobre a sexualidade.
1. Quase todos os adolescentes j tiveram relaes sexuais antes dos 18 anos.
2. Um(a) adolescente necessita de autorizao dos pais para pedir o preservativo ou a plula num Centro de Sade.
3. Uma rapariga no engravida se tiver relaes sexuais durante a menstruao.
4. perigoso tomar banho durante a menstruao.
5. Um duche vaginal de gua fria logo aps a relao sexual evita uma gravidez.
6. Uma rapariga no engravida na primeira relao sexual.
7. Uma rapariga no engravida se tiver relaes sexuais s de vez em quando.
8. O lcool um estimulante sexual.
9. Um homem que tenha um pnis grande sexualmente mais eficaz do que um homem que tenha o pnis pequeno.
10. Uma rapariga no pode engravidar a no ser que o rapaz ejacule dentro da sua vagina.
MITOS RELATIVAMENTE SEXUALIDADE NA ADOLESCNCIA
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
O
6
MTODO VANTAGENS DESVANTAGENS EFICCIA
Esterilizao
Dispensa associao com outros
mtodos.
Quase sempre irreversvel; podem
ocorrer complicaes psicolgicas.
99,9%
Plula
Ciclos menstruais mais regulares.
Reduo do risco de cancro do tero
e do ovrio.
Eficcia diminuda por certos
medicamentos; no protege
das IST; necessrio disciplina
na sua toma.
98%
DIU
Pode ser usado por muito tempo;
no necessita de especial disciplina.
Risco aumentado de infeces
genitais; acentuao do fluxo
menstrual e das dores menstruais.
95%
Preservativo
Poucos efeitos secundrios; protege
contra as IST; no necessita de
indicao mdica.
Interfere na espontaneidade; pode
romper-se durante a utilizao.
95%
Espermicidas No necessitam de indicao mdica.
Protege por pouco tempo; aplicao
antes de cada relao sexual.
82%
Diafragma Tem poucos efeitos secundrios.
Requer orientao mdica para a
escolha do tamanho mais adequado
e as formas de aplicao; exige
ajustamento.
81%
Coito
interrompido
Ausncia de efeitos secundrios em
termos fsicos.
Limitao do prazer. Pode afectar
psicologicamente o casal.
77%
Mtodo
do calendrio
O nico mtodo aceite pela maioria
das religies.
Limitao do nmero de dias em que
possvel ter relaes sexuais; exige
planeamento e determinao.
76%
VANTAGENS, DESVANTAGENS E GRAU DE EFICCIA DOS MTODOS
CONTRACEPTIVOS
Tpicos de discusso
3Reflectir sobre os factores a ter em conta na escolha de um mtodo contraceptivo, como, por exemplo,
segurana, comodidade e reversibilidade do mtodo, actividade sexual, idade e sade, nvel econmico e
social da mulher.
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 22
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
8
TRANSMISSO DA VIDA 23
Tpicos de discusso
3Discutir os mitos sobre a sexualidade na adolescncia depois dos alunos, individualmente, classificarem
cada uma das afirmaes como verdadeira ou falsa.
MULHER
Produo
de gmetas
HOMEM
Produo
de gmetas
Sada
dos gmetas
Deposio dos
espermatozides na vagina
Entrada dos espermatozides
nas trompas
Fecundao
Nidao
Manuteno
da gravidez
Abstinncia
no perodo
frtil
Vasectomia
Plula
Preservativo
Coito
interrompido
Tpicos de discusso
3Reflectir sobre a altura em que cada um dos mtodos contraceptivos actua e o respectivo efeito.
3Resumir a sequncia de acontecimentos at efectivao de uma gravidez.
FORMAS DE ACTUAO DOS CONTRACEPTIVOS
1 1. Uma rapariga no engravida se tomar a plula um ou dois dias antes de cada uma das relaes sexuais.
12. A plula do dia seguinte poder ser tomada de cada vez que ocorrer uma relao sexual.
13. Uma pessoa com bom aspecto no tem SIDA.
14. Quando um adolescente vtima de agresso sexual, o agressor sempre uma pessoa desconhecida.
Adaptado de Educao Sexual: Contextos de sexualidade e a adolescncia
Adaptado de Mercandante, C., et al Biologia (1999)
Diafragma
Espermicida
DIU
Laqueao
das trompas
DIU
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 23
24 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
O
9
A sfilis uma infeco sexual-
mente transmissvel causada por uma
bactria, Treponema pallidum. Esta
doena desenvolve-se em trs fases. A
primeira caracteriza-se pelo apareci-
mento de uma pequena ferida com o
aspecto de lcera arredondada de
bordos duros, no local onde se deu a
penetrao, e multiplicao do agen-
te infeccioso. Na segunda fase, os gn-
glios linfficos aumentam de volume
e surgem erupes na pele formadas
por pequenas manchas cor-de-rosa e
sintomas relacionados com infeces
do fgado e dos rins. Na terceira fase,
surgem tumores na pele e nos ossos,
problemas cardacos e neurolgicos com convulses,
paralisia, alteraes do comportamento e demncia.
A sfilis surgiu como uma pande-
mia catastrfica, de modo sbito, na
Europa, em 1494/95, aps o regresso
Amrica, em 1493, dos marinheiros de
Cristvo Colombo. Esta teoria sobre
o incio da doena na Europa, dita
colombi ana, acei te generi ca-
mente, embora com algumas reservas,
por falta de argumentos cientficos
slidos.
Outra hiptese, igualmente prec-
ri a, denomi nada ambi ental.
Admite a possibilidade da sfilis ser
uma doena antiga, cuja bactria cau-
sadora sofreu mutaes que a torna-
ram mais virulenta no sculo XVI. A
rpida transmisso da sfilis entre os soldados de vrios
exrcitos valeu-lhe as designaes de mal francs para
italianos e ingleses, mal polaco para os moscovitas,
mal germnico para os polacos e mal portugus para
os japoneses.
Em Portugal, os primeiros casos
de sfilis surgiram pouco depois da
armada de Colombo ter regressado
do Novo Mundo e pensa-se que pos-
sam ter sido os marinheiros de Vasco
da Gama a disseminar a doena para
o Oriente na sua primeira viagem at
Calecute, em 1498.
Cedo se tornou claro que a doen-
a era contagiosa e chegou a pensar-
-se que a sua transmisso se fazia
atravs da pele nos banhos pblicos
que, por isso, foram ficando desertos,
acabando por fechar. Os banhos
foram ento substitudos pelos perfu-
mes.
A suspeita de que se tratava de um mal sexualmente
transmissvel teve enormes consequncias sociais. A
prostituio foi perseguida e ilegali-
zada e surgiu o preservativo, fabrica-
do a partir do intestino de carneiro.
Alguns crem que foi a necessidade
de ocultar a alopecia (calvcie) e as
lceras do pescoo que fez nascer, no
sculo XVIII, a moda das cabeleiras
postias e das rendas farfalhudas nas
golas.
O facto de inicialmente os euro-
peus no apresentarem resistncia
para esta doena e de no existir
qualquer tratamento, levou morte
de um elevado nmero de pessoas,
chegando mesmo a ser congnita, ou
seja, adquirida durante a gestao e
presente no nascimento. Com o tempo, a populao foi
adquirindo alguma resistncia ao agente patognico, mas
s no sculo XX, aps a descoberta da penicilina, foram
possveis os primeiros tratamentos eficazes, o que permi-
tiu atenuar os efeitos da doena.
HISTRIA DE UMA DOENA SFILIS
Tpicos de discusso
3Comentar as implicaes sociais da sfilis.
3Comparar a histria da sfilis com a histria da SIDA.
Cristvo Colombo
Nau Santa Maria
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 24
TRANSMISSO DA VIDA 25
Tpico de discusso
3Discutir aspectos ticos da utilizao das clulas estaminais.
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
10
DOMINNCIA/RECESSIVIDADE EM CARACTERES HUMANOS
CARACTERES DOMINANTE RECESSIVO
Cor do cabelo Castanho Louro
Cor da ris Castanha Azul
Lbios Grossos Finos
Queixo Com covinha Sem covinha
Orelhas Lbulo solto Lbulo aderente
Viso Normal Miopia
Lngua Capacidade de dobrar Incapacidade de dobrar
Tpico de discusso
3Elaborar e interpretar rvores genealgicas pessoais.
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
11
No futuro, o tratamento de doenas como acidentes vasculares cerebrais, diabetes e at mesmo paralisias, poder ser
revolucionado com a investigao actualmente em curso sobre as clulas estaminais. As clulas estaminais so clulas exis-
tentes nos embries e que ainda no sofreram diferenciao. A diferenciao celular ocorre durante as fases iniciais do desen-
volvimento do embrio, quando as clulas estaminais se transformam nos vrios tipos de clulas que existem no organismo.
Os cientistas estudam a possibilidade de, atravs do controlo destas clulas, conseguirem curar vrias doenas. Por exemplo,
as clulas lesionadas do crebro dos pacientes das doenas de Parkinson e Alzheimer, poderiam ser substitudas por clulas
estaminais de um embrio que reconstituiriam o tecido cerebral perdido. No entanto, o avano destas investigaes tem sido
travado devido s questes ticas que a utilizao de embries humanos durante as experincias levanta. A atitude relativa-
mente utilizao de clulas estaminais embrionrias para fins de investigao varia de pas para pas. Por exemplo, na
Alemanha, a remoo de clulas estaminais de um embrio humano considerada ilegal, enquanto no Reino Unido legal
mas apenas em embries com menos de 14 dias aps a fertilizao. Muitos pases ainda no possuem leis claras que regulem
a investigao de clulas estaminais humanas.
APLICAO DAS CLULAS ESTAMINAIS
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 25
26 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
FICHA DE TRABALHO N.
o
3 TRANSMISSO DA VIDA
Competncias:
3Identificar os constituintes dos sistemas reprodutores masculino e feminino.
3Conhecer a funo dos constituintes dos sistemas reprodutores masculino e feminino.
3Inferir sobre a funo das hormonas sexuais.
3Conhecer os mtodos contraceptivos e a respectiva forma de actuao.
3Explicar a determinao do sexo na espcie humana.
1. Nas figuras seguintes esto representados os sistemas reprodutores masculino e feminino.
Analisa-as atentamente.
1.1 Indica o nome dos rgos identificados com os nmeros 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 19 e 20.
1.2 Indica o nmero, o nome e a funo dos seguintes rgos:
a. gnadas masculinas.
b. gnadas femininas.
1.3 Completa as afirmaes seguintes.
a. A fecundao ocorre na ____(A)____, estrutura identificada na figura com o nmero ____(B)____.
b. O tero, identificado na figura com o nmero ____(A)____, o local onde ocorre a ____(B)____.
c. Os espermatozides terminam a sua maturao no ____(A)____, estrutura identificada com o
nmero ____(B)____.
1.4 Faz corresponder a cada afirmao o termo correspondente.
a. Clula reprodutora masculina, formada por flagelo, parte intermdia e cabea.
b. Secreo produzida pelas glndulas seminais.
c. Fluido constitudo por gmetas masculinos e pelas secrees produzidas pelas glndulas anexas.
d. Mucosa que reveste o tero e que sofre transformaes cclicas.
e. Estrutura do ovrio onde se desenvolvem os gmetas femininos.
12
1
2
11
10
9
8
7
5
6
4
3
1 6
1 7
1 8
1 9
1 5
14
13
22
21
20
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 26
TRANSMISSO DA VIDA 27
2. A castrao era prtica habitual nos homens encarregados pela guarda dos harns no mundo muulmano.
Estes homens (eunucos) no s se tornavam estreis, como sofriam profundas modificaes nos caracte-
res sexuais secundrios. Explica este facto.
3. Foi feito um estudo com o objectivo de conhecer a eficincia dos mtodos contraceptivos mais utilizados. Os
resultados desse estudo esto expressos no quadro abaixo.
3.1 Indica quais so os mtodos contraceptivos mais eficazes.
3.2 A plula anticoncepcional diferencia-se dos demais mtodos contraceptivos relativamente forma de
actuao. Justifica esta afirmao.
3.3 Explica em que consiste a vasectomia.
3.4 Selecciona, entre os mtodos contraceptivos referidos, os
que se podem classificar como mtodos de barreira.
4. Observa atentamente a figura ao lado.
4.1 Prev o caritipo dos gmetas 1, 2 e 3.
4.2 Prev o sexo dos filhos A e B deste casal.
4.3 Henrique VII, rei de Inglaterra, abandonou algumas espo-
sas porque, segundo ele, no tinham sido capazes de lhe
dar um filho rapaz. Comenta esta afirmao.
MTODO
% DE CASOS EM QUE
OCORREU GRAVIDEZ
Preservativo 5,0
Espermicida 18,0
Diafragma 19,0
Plula 1,0
DIU 5,0
Calendrio 24,0
Laqueao das trompas 0,4
Vasectomia 0,4
44 + XY
Gmetas
Pais
Filhos
44 + XX
A B
1 2 3
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 27
28 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
FICHA DE TRABALHO N.
o
4 TRANSMISSO DA VIDA
Competncias:
3Identificar os vrios constituintes do sistema reprodutor feminino.
3Conhecer, genericamente, o processo de ovognese.
3Inferir sobre a funo das hormonas sexuais.
3Relacionar a variao das hormonas sexuais com a sequncia de fenmenos que decorrem durante
o ciclo sexual feminino.
3Conhecer o ciclo sexual feminino.
1. Observa o esquema da figura seguinte, que representa parte do sistema reprodutor feminino.
1.1 Faz a legenda dos nmeros 1, 2 e 3.
1.2 Indica os fenmenos identificados pelos nmeros I, II e III.
1.3 Identifica as clulas A e B e a estrutura C.
1.4 No rgo 3 decorre a ovognese. Este processo tem incio durante o desenvolvimento embrionrio das
raparigas e depois interrompido.
1.4.1 Indica em que altura da vida das raparigas a ovognese interrompida e quando volta a ser reto-
mada.
1.4.2 Selecciona as opes que completam correctamente a seguinte afirmao:
A ovognese um processo
a. contnuo.
b. cclico.
c. que conduz formao de milhes de gmetas em simultneo.
d. que conduz formao de um gmeta de cada vez.
2. A judoca brasileira, Edinanci Silva necessitou de se submeter a duas cirurgias para corrigir uma anomalia
gentica que tinha originado dois testculos internos. Por exigncia do Comit Olmpico Internacional, foram-
-lhe retirados os testculos que possua internamente. Explica a vantagem que esta atleta teria sobre as
outras competidoras, se tivesse testculos funcionais.
B
II
C 2
3 1
III
I A
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 28
TRANSMISSO DA VIDA 29
3. O grfico da figura seguinte mostra os nveis de hormonas no sangue durante o ciclo sexual.
3.1 Selecciona a opo que completa correctamente a seguinte afirmao:
Os fenmenos 1 e 2 so respectivamente
a. amadurecimento do ovcito e ovulao.
b. menstruao e crescimento do endomtrio.
c. libertao do ovcito e menstruao.
d. ovulao e formao do corpo amarelo.
e. menstruao e formao do corpo amarelo.
3.2 Selecciona a opo que completa correctamente a seguinte afirmao:
As hormonas produzidas pela hipfise actuam sobre
a. o tero.
b. o ovrio.
c. o ovrio e o tero.
d. o sangue.
3.3 Classifica cada uma das seguintes afirmaes como verdadeira (V) ou falsa (F).
A. O corpo amarelo segrega apenas progesterona.
B. O estrognio segregado pela hipfise controla o ciclo uterino.
C. Aps a ovulao, inicia-se um novo ciclo ovrico.
D. A reparao do endomtrio durante a fase proliferativa do ciclo uterino estimulada por um aumento
da concentrao de estrognio.
E. A fase proliferativa do ciclo uterino e a fase folicular do ciclo ovrico so coincidentes e iniciam-se
com a ovulao.
F. Aps a ovulao, o folculo de onde se libertou o ovcito transforma-se em corpo amarelo.
3.4 Observando as curvas das hormonas do grfico, refere se ocorreu fecundao. Justifica a tua resposta.
0 5 14 28
Perodo
menstrual
Concentrao
de hormonas
no sangue
Dias do ciclo menstrual
LH
Estrognios
Progesterona
FSH
1 2
Fase proliferativa Fase secretora
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 29
30 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
Competncias:
3Inferir sobre a funo das hormonas sexuais.
3Relacionar a variao das hormonas sexuais com a sequncia de fenmenos que decorrem durante
o ciclo sexual feminino.
3Conhecer o ciclo sexual feminino.
3Conhecer mtodos contraceptivos e respectiva actuao.
3Aplicar conhecimentos bsicos de gentica em situaes concretas.
3Enumerar aplicaes da biotecnologia.
1. O grfico da figura seguinte representa a variao dos nveis de estrognios e de progesterona
durante o ciclo menstrual.
1.1 Selecciona das opes seguintes aquela que constitui uma afirmao verdadeira.
a. Apenas a taxa de progesterona baixa durante a menstruao.
b. Apenas a taxa de estrognios baixa durante a menstruao.
c. As taxas de estrognios e de progesterona so altas durante a menstruao.
d. As taxas de estrognios e de progesterona atingem o nvel mnimo durante a ovulao.
e. A taxa de progesterona aumenta aps a ovulao.
1.2 Selecciona a opo que completa correctamente a seguinte afirmao:
As hormonas produzidas pelo ovrio actuam sobre
a. o tero.
b. a hipfise.
c. o corpo amarelo.
d. os folculos ovricos.
e. o sangue.
1.3 Indica em que altura do ciclo menstrual (1, 2 ou 3) h a possibilidade de ocorrer uma gravidez. Justifica
a tua resposta.
FICHA DE TRABALHO N.
o
5 TRANSMISSO DA VIDA
Estrognios
Progesterona
0 14.
o
28.
o
Dias do ciclo
1
2
3
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 30
TRANSMISSO DA VIDA 31
2. Classifica cada uma das afirmaes como verdadeira (V) ou falsa (F).
A. A plula anticoncepcional um dos mtodos mais eficazes na preveno da transmisso de infeces
sexualmente transmissveis
B. Os mtodos anticoncepcionais naturais so muito falveis.
C. A laqueao de trompas um mtodo contraceptivo definitivo.
D. O preservativo um mtodo contraceptivo de barreira.
E. A plula anticoncepcional um mtodo contraceptivo definitivo.
3. Das atitudes seguintes indica as que constituem forma de transmisso do vrus da SIDA.
a. Partilhar talheres com uma pessoa seropositiva.
b. Ter relaes sexuais com uma pessoa com bom aspecto sem preservativo.
c. Furar as orelhas com agulhas no esterilizadas.
d. Beijar uma pessoa portadora do vrus da SIDA.
e. Trocar roupa com uma pessoa com SIDA.
f. Utilizar piscinas pblicas.
4. A figura seguinte representa a rvore genealgica de uma famlia afectada por uma doena de origem
gentica.
4.1 A doena que afecta esta famlia condicionada por um gene recessivo. Esta deduo pode ser feita
graas ao casal:
a. 1-2; b. 3-4; c. 5-6; d. 7-8; e. 9-10.
4.2 Utilizando a letra N para representar o gene dominante e a letra n para representar o gene recessivo,
indica o gentipo de todos os indivduos identificados com nmeros.
4.3 Indica qual a probabilidade do casal 5-6 vir a ter um filho sem esta doena. Justifica a tua resposta.
5. Existe um grande nmero de aplicaes da biotecnologia na agricultura, desde as tcnicas ancestrais de
seleco das plantas mais vantajosas at s mais recentes tcnicas de recombinao gentica.
5.1 Indica duas aplicaes das tcnicas de recombinao gentica na agricultura.
1 2
Homem normal
Legenda:
Mulher normal
Homem doente
Mulher doente
3
5 6 7
8
9 10
4
CAP_CN9_PG001_031 6/18/08 2:33 PM Page 31
3.1
SISTEMA
NEURO-HORMONAL
3.2
SISTEMA
CARDIORRESPIRATRIO
3.3
SISTEMAS DIGESTIVO
E EXCRETOR
3.4
OPES QUE INTERFEREM NO
EQUILBRIO DO ORGANISMO
O ORGANISMO HUMANO
EM EQUILBRIO
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 32
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 33
34 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
3. O organismo
humano em
equilbrio
3.1 Sistema
neuro-hormonal
3.1.1 Sistema
nervoso
3Constituintes do
sistema nervoso
3Sistema nervoso
central
3Sistema nervoso
perifrico
3Actos voluntrios e
involuntrios
3.1.2 Sistema
endcrino
3Utilizar os saberes cientficos
para compreender a realidade.
3Analisar, interpretar
e compreender informao
veiculada de diferentes modos.
3Realizar inferncias,
generalizaes e dedues.
3Demonstrar a capacidade de
expor e defender ideias.
3Pesquisar, seleccionar
e organizar informao para
a transformar em
conhecimento mobilizvel.
3Realizar actividades de forma
autnoma, responsvel
e criativa.
3Usar correctamente a lngua
portuguesa.
3Usar adequadamente
diferentes tipos de linguagem.
3Utilizar novas tecnologias de
informao e comunicao.
3Rentabilizar as tecnologias da
informao e comunicao na
construo do saber e na sua
comunicao.
Compreender que o organismo
humano est organizado em
diferentes sistemas que
desempenham funes
especficas e funcionam de
modo integrado e em
interaco.
3 Conhecer a constituio do
sistema nervoso.
3 Conhecer a estrutura do
neurnio.
3 Identificar os constituintes do
encfalo.
3 Conhecer o sentido da
transmisso do impulso
nervoso.
3 Distinguir o sistema nervoso
central do sistema nervoso
perifrico e o sistema nervoso
autnomo do sistema nervoso
somtico.
3 Conhecer a actuao dos
sistemas nervosos autnomo
e somtico.
3 Distinguir actos voluntrios de
actos involuntrios e actos
reflexos inatos de actos
reflexos adquiridos.
3 Explicar o arco reflexo.
3 Reconhecer que os sistemas
nervosos simptico
e parassimptico
desempenham funes opostas
e complementares.
3 Conhecer doenas
do sistema nervoso.
3 Conhecer, genericamente,
a forma de actuao do
sistema endcrino.
3 Reconhecer que a coordenao
do organismo feita pela
interaco entre o sistema
nervoso e o sistema endcrino.
Explorao de filmes sobre
o funcionamento do corpo
humano.
Explorao de modelos
anatmicos.
Anlise crtica dos textos do
Manual (pginas 113, 125, 140,
159, 187 e 211).
Actividades experimentais.
Podero ser efectuados
trabalhos prticos de observao
microscpica de sangue humano
em preparaes definitivas,
de dissecao do encfalo,
do corao, dos pulmes
e do rim de mamferos, bem
como de identificao
de glcidos, previstos no Manual.
Trabalho de grupo. Podero
ser propostos trabalhos de
pesquisa sobre temticas
relacionadas com as doenas
que afectam os diferentes
sistemas e as tcnicas utilizadas
no seu diagnstico e tratamento.
Em sequncia destes trabalhos,
podero ser desenvolvidas
campanhas de sensibilizao,
nomeadamente, de doao de
sangue ou de medula ssea.
Os alunos podero ainda
trabalhar temas relacionados
com a dieta mediterrnica ou
outros tipos de regimes
alimentares, os distrbios
alimentares e os malefcios
do consumo de drogas ilcitas,
tabaco ou lcool, entre outros.
Os trabalhos elaborados podero
constituir ficheiros temticos a
disponibilizar na Biblioteca e/ou
a incluir na plataforma
e-learning da escola.
8
PLANIFICAO
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 34
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 35
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
3.2 Sistema
cardiorrespiratrio
3.2.1 Sistema
circulatrio
sanguneo
3Constituio
do sangue
3Estrutura dos
vasos sanguneos
3Estrutura do
corao
3Ciclo cardaco
3Circulao
do sangue
3Variao da pres-
so sangunea
3Doenas
cardiovasculares
3.2.2 Sistema
circulatrio linftico
3.2.3 Sistema
respiratrio
3Constituio
do sistema
respiratrio
3Funcionamento do
sistema respirat-
rio
3Trocas gasosas
3Doenas
respiratarias
3Manifestar perseverana
e seriedade no trabalho.
3Apresentar atitudes e valores
inerentes ao trabalho
cooperativo.
3Cooperar com os outros em
projectos comuns.
3Adoptar metodologias
personalizadas de trabalho
e de aprendizagem adequadas
aos objectivos visados.
3Respeitar regras de utilizao
de equipamentos e espaos.
3Manipular com destreza
material laboratorial.
3Assumir atitudes de
flexibilidade e de respeito face
a novas ideias.
3Avaliar criticamente atitudes
desenvolvidas pela
comunidade.
3Manifestar sentido crtico.
3Assumir atitudes de cidadania
responsvel.
3Identificar os diferentes
constituintes do sangue e as
respectivas funes.
3Identificar as caractersticas
dos diferentes tipos de vasos
sanguneos.
3Relacionar a estrutura dos
vasos sanguneos com
a respectiva funo.
3Identificar a estrutura
do corao.
3Descrever o ciclo cardaco.
3Descrever a circulao
pulmonar e a circulao
sistmica.
3Explicar a formao da linfa.
3Relacionar o sistema linftico
com o sistema sanguneo.
3Identificar as funes
do sistema linftico.
3Identificar os constituintes
do sistema respiratrio.
3Compreender os mecanismos
responsveis pela ventilao
pulmonar.
3Compreender a importncia
da hematose.
3Distinguir sangue venoso de
sangue arterial.
3Conhecer doenas dos
sistemas circulatrio
e respiratrio.
3Associar as doenas dos
sistemas circulatrio
e respiratrio aos respectivos
factores de risco.
Elaborao de questionrio.
Os alunos podero ser
envolvidos na elaborao e
aplicao comunidade escolar
de um questionrio sobre o
consumo
de drogas ilcitas, tabaco e
lcool.
A divulgao deste trabalho
poder ser enquadrada numa
aco mais vasta de
sensibilizao sobre
os malefcios do consumo destas
substncias, como, por exemplo,
organizando sesses alargadas
de esclarecimento a toda a
escola em colaborao com
diferentes tcnicos e entidades
(por exemplo, tcnicos de sade,
psiclogos ou Escola Segura).
Recolha de testemunhos.
Os alunos podero fazer uma
recolha de testemunhos de
ex-toxicodependentes ou
ex-alcolicos ou de pessoas que
tenham sofrido consequncias
directas do uso destas
substncias.
Podero ainda ser recolhidos
testemunhos de pessoas que
tenham comportamentos de
risco ou que deles sejam vtimas
(por exemplo, sinistralidade
rodoviria/lcool).
A apresentao destes
testemuhos poder ser o ponto
de partida para um debate na
turma ou alargado a toda a
comunidade educativa.
Anlise e discusso
de notcias veiculadas na
comunicao social sobre
a evoluo das tcnicas
de diagnstico e tratamento
de doenas que afectam
os sistemas de rgos
estudados ou que faam
referncia relao entre
as opes de vida
e o surgimento de doenas ou
outras situaes que ponham a
vida em perigo.
15
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 35
36 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
3.3 Sistemas
digestivo e excretor
3.3.1 Sistema
digestivo
3Nutrientes
necessrios
ao organismo
3Composio
dos nutrientes
complexos
3Constituio
do sistema
digestivo
3Digesto
3Absoro
3Doenas
do sistema
digestivo
3.3.2 Utilizao
dos nutrientes
pelo organismo
3.3.3 Sistema
excretor
3Constituio
do sistema
excretor
3Funo dos rins
formao da urina
3Doenas
do sistema
excretor
3.3.4 Interaco
dos sistemas
de rgos
3Distinguir alimentos de
nutrientes.
3Reconhecer a necessidade
da digesto dos alimentos.
3Identificar os constituintes
do sistema digestivo.
3Conhecer, em termos genricos,
os fenmenos da digesto
mecnica e qumica.
3Reconhecer a importncia
dos sucos digestivos na digesto
qumica.
3Relacionar a morfologia do
intestino com a absoro.
3Explicar o destino das
substncias resultantes
da digesto.
3Compreender a importncia
dos nutrientes e do oxignio para
as clulas.
3Compreender a necessidade
de eliminar produtos residuais
do metabolismo celular.
3Identificar os constituintes
do sistema excretor.
3Reconhecer o nefrnio como
unidade bsica da excreo renal.
3Explicar o mecanismo
de formao da urina.
3Conhecer doenas dos sistemas
digestivo e excretor.
3Relacionar as doenas
dos sistemas digestivo e excretor
com os respectivos factores
de risco.
3Relacionar a interaco dos
diferentes sistemas de rgos,
numa situao concreta.
Anlise de rtulos. A anlise
de rtulos de alimentos,
permitir identificar
os nutrientes presentes e
calcular o valor energtico
dos alimentos. Esta anlise
permitir ainda perceber
a presena de conservantes,
corantes e outros aditivos.
Elaborao de ementas.
Em colaborao com
os responsveis pelo refeitrio
escolar, os alunos podero
aplicar os seus conhecimentos,
colaborando na elaborao
de ementas equilibradas. Esta
actividade poder ser inserida
numa campanha mais ampla
de sensibilizao sobre hbitos
alimentares saudveis.
Organizao de palestras
ou debates. Em colaborao
com tcnicos de sade,
psiclogos, nutricionistas ou
outros profissionais podero ser
promovidas sesses de
sensibilizao sobre as diversas
temticas abordadas nesta
unidade.
Visita de estudo a um centro
de hemodilise ou a um centro
hospitalar onde os alunos
tomem contacto com tcnicas
de diagnstico e tratamento de
diferentes doenas.
Resoluo de actividades
do Manual.
Explorao de textos
e actividades existentes no
Caderno de Apoio ao Professor.
Explorao dos recursos
propostos no Manual Multimdia
12
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 36
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 37
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
3.4 Opes que
interferem no
equilbrio
do organismo
3.4.1 Alimentao
3Funes
dos nutrientes
3Dieta equilibrada
3Factores
condicionantes
do regime
alimentar
3Alimentao
desequilibrada:
subnutrio
e hipernutrio
3.4.2 Actividade
fsica
3.4.3 Higiene oral
3.4.4 Drogas
3Drogas ilcitas
3Tabaco
3lcool
Valorizar atitudes de
segurana e de preveno
como condio essencial em
diversos aspectos
relacionados com a qualidade
de vida.
3Reconhecer que a sade
condicionada pelas opes
individuais.
3Compreender que
a alimentao equilibrada,
a higiene e a prtica de
exerccio fsico so opes
de vida que condicionam
a sade.
3Identificar os factores que
devem condicionar o regime
alimentar.
3Conhecer o valor nutritivo
dos nutrientes.
3Explicar o significado
da pirmide alimentar e da
roda dos alimentos.
3Reconhecer o valor nutricional
da dieta mediterrnica.
3Compreender que
os desequilbrios alimentares,
a falta de higiene,
o sedentarismo e o consumo
de drogas so opes de vida
prejudiciais ao organismo.
3Conhecer efeitos resultantes
de uma alimentao
desequilibrada.
3Conhecer efeitos do consumo
de tabaco, de lcool
e de drogas ilcitas.
3Assumir uma atitude crtica
face aos comportamentos que
comprometem o equilbrio
do organismo.
10
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 37
38 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
DOCUMENTOS DE AMPLIAO
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
12
Tal como nos outros animais, a sobrevivncia do ser
humano, depende, em parte, da capacidade de reconhecer e
dar resposta a estmulos. Os receptores de estmulos locali-
zam-se em todas as parte do corpo e, de acordo com a natu-
reza do estmulo que so capazes de captar, podem ser clas-
sificados em:
Quimiorreceptores detectam substncias qumicas.
Existem, por exemplo, na lngua e no nariz.
Termorreceptores reagem a estmulos de natureza
trmica e encontram-se distribudos por toda a pele.
Mecanorreceptores sensveis a estmulos mecni-
cos. Nos ouvidos, por exemplo, so capazes de captar ondas
sonoras.
Fotorreceptores captam estmulos luminosos e
encontram-se localizados nos olhos.
Os receptores sensoriais localizam-se na superfcie do
corpo, onde recebem estmulos provenientes do exterior,
como a luz, o calor, os sons e a presso. Outros receptores de
estmulos esto localizados no interior do corpo, como os
que se situam nos msculos, nos tendes e rgos internos,
captando estmulos com origem no interior do corpo que
revelam as condies internas do organismo (pH, tempe-
ratura e composio qumica do sangue, por exemplo).
Os receptores sensoriais permitem a existncia dos sen-
tidos. O ser humano possui cinco sentidos:
O olfacto produzido pela estimulao do epitlio
olfactivo, localizado no tecto das cavidades nasais. O epitlio
olfactivo humano contm cerca de 20 milhes de clulas
sensoriais, cada uma com seis plos sensoriais, sendo pouco
desenvolvido em relao ao de outros mamferos. Os ces,
por exemplo, tm mais de 100 milhes de clulas sensoriais,
cada uma com, pelo menos, 100 plos sensoriais.
O paladar deve-se aos receptores localizados na lngua.
Estes receptores encontram-se agrupados em pequenas
salincias chamadas papilas gustativas (cerca de 10 000).
Existem quatro tipos de receptores gustativos, situados em
diferentes regies da lngua, capazes de reconhecer os qua-
tro sabores bsicos: doce, azedo, salgado e amargo.
As estruturas responsveis pela audio so o ouvido
externo, o ouvido mdio e a cclea. O ouvido externo corres-
ponde ao canal auditivo que se abre para o meio exterior na
orelha. O epitlio que reveste o canal auditivo externo rico
em clulas secretoras de cera que retm partculas de poeira
e microrganismos. O ouvido mdio, separado do ouvido exter-
no pelo tmpano, um canal estreito e cheio de ar que comuni-
ca com a garganta atravs da trompa de Eustquio. A cclea
a parte do ouvido interno responsvel pela audio. um
longo tubo cnico, enrolado em caracol, no interior do qual
existe uma estrutura complexa (rgo de Corti), onde se
situam os receptores sensoriais responsveis pela captao
dos estmulos produzidos pelas ondas sonoras.
Os olhos, responsveis pela viso, so bolsas membrano-
sas, embutidas em cavidades sseas do crnio, as rbitas ocu-
lares. Tm associadas estruturas acessrias: plpebras,
sobrancelhas, msculos e aparelho lacrimal. A cada olho est
associado um nervo ptico, um feixe de fibras nervosas, que
parte do interior do globo ocular em direco ao encfalo. Os
raios luminosos atravessam vrias estruturas do olho (crnea,
pupila, cristalino e o corpo vtreo) at chegarem retina onde
estimulam os receptores sensoriais que os transformam em
impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos penetram ento
nas clulas nervosas da retina, que os conduzem, atravs do
nervo ptico, aos centros de viso do crebro.
A pele, o nosso maior rgo sensorial, responsvel
pelo sentido do tacto. Possui diversos tipos de receptores
que recebem continuamente diferentes tipos de estmulos
(dor, frio, calor, presso) que so enviados ao encfalo.
Muitos dos receptores sensoriais da pele so terminaes
nervosas livres.
RECEPTORES DE ESTMULOS
Tpicos de discusso
3Discutir a importncia dos receptores de estmulos para a sobrevivncia humana.
3Relacionar os rgos dos sentidos com a percepo do meio.
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 38
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 39
Tpicos de discusso
3Discutir a importncia da dor na sobrevivncia humana.
3Relacionar a descoberta descrita com os mecanismos de transmisso nervosa aprendidos.
3Inferir sobre a importncia desta descoberta no desenvolvimento da cincia.
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
13
Um grupo de cientistas britnicos publicou um estudo
na revista Nature em que mostra que a ausncia de dor se
deve a uma mutao gentica e no a falhas no crebro
como se pensava.
O estudo foi realizado no
Paquisto, onde um rapaz se tornou
famoso por realizar espectculos de
rua em que se feria com facas ou
caminhava em cima de brasas. Apesar
de parecerem truques de feira, estas
actividades so possveis devido a uma
doena devastadora em que os pacien-
tes no tm noo dos limites fsicos,
uma vez que no so sensveis dor.
Estes doentes ferem-se sem terem
conscincia disso, correndo assim o
risco de queimaduras, ferimentos ou
fracturas graves. O jovem paquistans
do referido estudo acabou por morrer
aos 14 anos, quando se atirou de um
telhado, por no ter medo e nunca ter sentido dor. Estes fac-
tos mostram a importncia da dor como meio de alerta til
para a manuteno da nossa sade e sobrevivncia.
Os investigadores descobriram que na famlia do rapaz
paquistans havia outras seis crianas que partilhavam o
que muitos consideravam um dom: nenhuma delas sentiu
alguma vez dor em qualquer parte do corpo.
Comparando amostras de ADN das seis crianas, os
investigadores descobriram que todas partilhavam uma
mutao num gene conhecido por SCN9A. Com o gene nor-
mal, as clulas reagem dor emitindo um sinal ao crebro
atravs da espinal medula. Porm, a mutao neste gene
bloqueia os impulsos nervosos, impedindo que o crebro
receba o sinal nervoso de alerta para
a dor.
A descoberta responde questo
de os pacientes paquistaneses serem
realmente incapazes de percepcionar
dor ou se simplesmente lhe so indife-
rentes. Quando o primeiro doente
incapaz de sentir dor foi examinado
pela primeira vez, no incio do sculo XX,
alguns mdicos pensaram que talvez
a doena envolvesse uma malforma-
o no crebro e no nos nervos.
O estudo desta mutao gentica
permitiu a descoberta de uma mol-
cula que pode ser a base de potentes
medicamentos analgsicos e de novas
formas de atenuar a dor intensa, com menos efeitos secund-
rios indesejveis do que os existentes actualmente, nomeada-
mente, a nvel cardaco.
Um outro estudo recente mostra que o gene SCN9A
pode sofrer outro tipo de mutao, posicionando os portado-
res dessa mutao no outro extremo do espectro da dor.
Esta mutao reala a dor em vez de a inibir e os seus porta-
dores sentem dores violentas e desproporcionadas em rela-
o ao estmulo.
MUTAO PODE ELIMINAR DOR
Adaptado de http://www.mni.pt
e Jornal de Notcias, 15-12-2006
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 39
40 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
Tpicos de discusso
3Relacionar a notcia com assuno de uma cidadania responsvel.
3Distinguir entre ddiva de sangue total de ddiva de sangue por afrese.
3Reflectir sobre as condies de sade e de estilo de vida exigidas aos dadores de sangue.
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
14
No dia 27 de Maro comemora-se o Dia Nacional do
Dador de Sangue.
H cada vez mais portugueses mentalizados para a
importncia das ddivas de sangue. Estas
ddivas permitem ajudar todas as pessoas
que, numa determinada altura das suas vidas,
e por diversos motivos, necessitam de receber
uma transfuso de sangue. Os dadores, ao
contriburem para o aprovisionamento das
reservas de sangue, demonstram uma atitu-
de altrusta que permite salvar vidas.
Para se ser dador basta ter entre 18 e 65
anos de idade, ter mais do que 50 kg e no ter
doenas que possam prejudicar a qualidade
do sangue a ser doado.
As colheitas de sangue so feitas de modo a proteger a
sade do dador e a garantir a segurana do doente que dele
necessita. Assim, fundamental que o dador colabore no pro-
cesso e tenha conscincia de que o seu sangue vai ser testado
em relao a doenas infecciosas. No caso deste estudo detec-
tar qualquer doena ou infeco, o dador informado, confi-
dencialmente, dos resultados e ser orientado de acordo com
a sua situao clnica.
Por questes relacionadas com a sade ou com os hbitos
de vida, algumas pessoas no podem dar sangue: o caso dos
consumidores ou ex-consumidores de drogas injectveis, sero-
positivos, portadores do vrus da hepatite B ou C ou de pessoas
que tiveram mais de um parceiro sexual nos seis meses ante-
riores ddiva.
Actualmente, existe uma outra forma de doar sangue
que, embora seja pouco conhecida, tem uma importncia
crescente: ddiva de sangue por afrese.
A ddiva de sangue por afrese consiste na recolha
selectiva de um dos componentes sanguneos, com a ajuda
de equipamento automtico - separador celular - sendo os
restantes componentes sanguneos restitudos ao dador. Tal
como nas ddivas totais, um processo supervisionado por
profissionais de sade e totalmente seguro para o dador.
Todo o material utilizado esterilizado e eliminado aps
cada doao, sendo impossvel contrair alguma doena.
Existem trs tipos de afrese:
Plaquetafrese doao de plaquetas
destinadas a doentes com leucemia, linfoma ou
outros tipos de cancros e a doentes sujeitos a
cirurgia cardaca ou transplante de medula
ssea.
Eritrafrese doao de glbulos ver-
melhos destinados a doentes politraumatiza-
dos submetidos a cirurgias, a transplantes ou
com doenas como leucemia ou outras for-
mas de cancro.
Plasmafrese doao de plasma desti-
nado a doentes queimados, a receptores de transplante de
rgos e a doentes com alteraes de coagulao.
Para alm das condies exigidas aos dadores de sangue
total, para se ser doador de sangue por afrese necessrio
que j se tenha doado sangue total, pelo menos duas vezes,
sem qualquer tipo de reaco adversa. Esta prtica no
aconselhvel a indivduos que tenham ingerido cido acetil-
saliclico ou anti-inflamatrios nos cinco dias anteriores
doao ou que possuam um historial pessoal ou familiar de
hemorragia e/ou trombose (o impedimento verifica-se s no
caso de plaquetafrese).
Este processo mais demorado (30 a 50 minutos, confor-
me o tipo de ddiva seleccionada) do que a colheita de san-
gue total, o que implica maior disponibilidade de tempo e
capacidade para tolerar uma colheita mais demorada, con-
tudo tem vrias vantagens. Numa ddiva de sangue total,
cada unidade colhida tem de ser processada laboratorial-
mente para ser separada nos seus componentes, um proces-
so demorado e que envolve recursos humanos. Por outro
lado, um concentrado unitrio de plaquetas, obtido por af-
rese, equivalente a seis concentrados de plaquetas obtidos
a partir de ddivas de sangue total.
DAR SANGUE, SALVAR VIDAS
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 40
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 41
Tpicos de discusso
3Discutir os resultados das experincias descritas luz dos conhecimentos adquiridos.
3Reflectir sobre a evoluo da cincia e as condicionantes que a experimentao em seres humanos
levanta.
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
15
O valor nutritivo dos alimentos e o seu papel sobre o nosso
bem-estar e sade dependem muito de um perfeito funciona-
mento dos processos de digesto, absoro e excreo. A pri-
meira estao dessa verdadeira linha de processamento qu-
mico e mecnico o estmago, que no ser humano um sofis-
ticado rgo de armazenamento temporrio e de digesto.
At meados do sculo XIX, os cientistas, apesar de conhe-
cerem bem a anatomia do estmago e a existncia dos movi-
mentos peristlticos e do suco gstrico, tinham poucos
dados sobre o seu funcionamento e importncia na digesto.
O conhecimento sobre a digesto era sobretudo terico.
Apenas pesquisas cientficas bsicas com animais tinham
sido realizadas em laboratrios europeus at ao final do
sculo XVIII. Os estudiosos dividiam-se em dois grupos anta-
gnicos: uns defendiam que a digesto era um processo qu-
mico, semelhante dissoluo de substncias, enquanto
outros acreditavam que a digesto era um processo mecni-
co de triturao dos alimentos que comeava com os dentes
e prosseguia com a ajuda das contraces estomacais e
intestinais. Foi ento que um mdico militar abriu as portas
do conhecimento cientfico sobre a fisiologia do estmago e
resolveu essa disputa.
No dia 6 de Junho de 1822, na Ilha Mackinac (EUA), um
caador chamado Alexis St. Martin foi ferido acidentalmente
por um tiro na parte superior esquerda do abdmen. Uma
ferida do tamanho da palma de uma mo abriu-se, mostran-
do parte de um pulmo, duas costelas e o estmago. O mdi-
co William Beaumont foi chamado e tratou o ferimento.
No entanto, a ferida nunca chegou a fechar completamente,
formando uma fstula gstrica externa, um acontecimento
muito raro se no for feito propositadamente.
Em Agosto de 1825 (trs anos depois do acidente), o
Dr. Beaumont teve a ideia de comear a fazer estudos no
estmago de St. Martin, tornando-se a primeira pessoa a
conseguir observar a digesto gstrica directamente.
Beaumont comeou por amarrar pequenos pedaos de
comida num fio e introduzi-los pela fstula no estmago de
St. Martin. Testou, desta forma, vrios tipos de carnes, vege-
tais crus e cozidos, po, etc. Aps a primeira, a segunda e a
terceira horas, Beaumont puxava o fio e anotava o grau de
digesto dos alimentos. Tambm retirou suco gstrico do
estmago e aplicou-o em pedaos de carne. As experincias
mostraram que, enquanto o estmago digeria totalmente
um pedao de carne em duas horas, fora do corpo, a mesma
poro de carne demorava 10 horas a ser digerida. Beaumont
determinou ainda os efeitos do clima, da temperatura e das
emoes sobre a digesto, verificando que era prejudicada
pela irritabilidade e melhorada pelo exerccio. Descobriu
tambm que os vegetais demoravam mais do que carne a
serem digeridos e que o leite coagulava antes de ser digerido.
As experincias e observaes do Dr. Beaumont determi-
naram o conhecimento de muitos factos novos sobre a fisio-
logia da digesto e derrubaram convices mantidas desde a
antiguidade. Por exemplo, antes de Beaumont, acreditava-se
que o estmago funcionava como uma espcie de moedor de
comida, atravs das contraces estomacais, e que proces-
sava de forma sequencial os diferentes tipos de alimentos.
Acreditava-se tambm uma funo selectiva para o estma-
go, que possuiria um esprito ou fluido que separava os ali-
mentos bons e eliminava os maus.
Beaumont comprovou claramente que nada disso era
verdade: a digesto de todos os tipos de alimentos iniciava-se
ao mesmo tempo, sendo o suco gstrico o responsvel,
necessitando para tal de uma temperatura elevada.
Concluiu ainda que a digesto podia processar-se fora do
corpo, usando o suco gstrico in vitro, e que os vrios ali-
mentos tinham tempos de digesto distintos, sendo os ali-
mentos ricos em gordura os que mais demoravam.
Beaumont demostrou tambm que factores externos como
o exerccio, as emoes e o clima influenciavam a digesto.
Infelizmente, a anlise qumica disponvel at poca de
Beaumont era ainda pouco desenvolvida e este e outros cien-
tistas nunca puderam conhecer com preciso os constituin-
tes do suco gstrico nem por que razo eram capazes de
digerir os alimentos. Isso s viria a acontecer no incio do
sculo XX.
HISTRIA DO ESTUDO DA DIGESTO
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 41
42 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
Tpicos de discusso
3Relacionar as caractersticas e consequncias da doena celaca com a anatomia e a fisiologia do
intestino.
3Reflectir sobre as implicaes que a doena celaca tem para a vida quotidiana das pessoas que dela
padecem.
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
16
Algumas pessoas no suportam
determinados alimentos que, quando
so ingeridos e entram em contacto
com a mucosa (membrana de revesti-
mento) do intestino, desencadeiam
reaces mais ou menos violentas
que provocam leses e perturbam o
normal funcionamento da digesto e
da absoro. Diz-se, ento, que existe
uma intolerncia alimentar a alguns tipos de alimentos.
Esta intolerncia pode manifestar-se por perodos mais ou
menos longos da vida destes indiv-
duos.
Quando este tipo de situao se
observa em relao ao glten e se
manifesta de forma permanente e
definitiva, trata-se de doena celaca.
O glten uma mistura de protenas
solveis presente nas farinhas dos
cereais. A agressividade do glten
depende da sua composio e, como esta no igual em
todos os cereais, eles so tolerados de forma diferente.
Assim, enquanto o trigo, o centeio e a cevada tm de ser
completamente afastados da alimentao de um paciente
celaco, outros cereais, como o milho e o arroz so perfeita-
mente inofensivos.
Quando o intestino de um celaco obrigado a suportar
uma alimentao sem restries, o glten dos cereais habi-
tualmente consumidos vai provocar alteraes to profun-
das que impedem o normal aproveitamento dos alimentos e
levam ao aparecimento dos sintomas (perda de apetite,
emagrecimento, diarreia ou priso de ventre, vmitos, ane-
mia, aumento do volume do abdmen, diminuio da con-
centrao de nutrientes essenciais no sangue e malnutri-
o). A observao directa de um
fragmento de intestino de um doen-
te celaco permite constatar que,
sem dieta, as vilosidades pratica-
mente desaparecem, surgindo uma
intensa inflamao. Esta doena no
tem cura, pelo que necessrio
manter uma dieta sem glten ao
longo de toda a vida. S excluindo
totalmente o glten da alimentao possvel fazer desapa-
recer as leses intestinais.
A histria desta doena perde-se
no tempo. No sculo II, o grego
Aretaeus da Capadcia descreveu
doentes com um determinado tipo de
diarreia usando a palavra koiliakos
(aqueles que sofrem do intestino).
Tudo leva a crer que, j nessa altura,
ele se referia quilo que, em 1888,
Samuel Gee, um mdico ingls,
observou em crianas e adultos e que designou por afeco
celaca. Gee previa que controlar a alimentao era o factor
principal do tratamento. Nos anos que se seguiram, vrios
mdicos dedicaram-se a observar e a tentar compreender as
causas desta doena, embora poucos avanos se tenham obti-
do. Durante a 2.
a
Guerra Mundial, o racionamento de alimen-
tos reduziu drasticamente o fornecimento de po populao
holandesa. O professor Dicke verificou ento que as crianas
com afeco celaca melhoravam da sua doena apesar da
grave carncia de alimentos. Associou este facto ao baixo con-
tedo em cereais na dieta. Esta associao seria confirmada
mais tarde com trabalhos laboratoriais que viriam finalmente
a demonstrar que o trigo e o centeio continham a substncia
que provocava a doena: o glten.
DOENA CELACA
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 42
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 43
Tpicos de discusso
3Pesquisar nos rtulos de alimentos comuns diferentes tipos de aditivos.
3Discutir as vantagens e desvantagens da utilizao de aditivos naturais e artificiais.
3Reflectir sobre a histria da utilizao de aditivos.
Os aditivos alimentares so substncias adicionadas
intencionalmente aos alimentos, geralmente em pequenas
quantidades, com a finalidade de conservar, manter, conferir
ou intensificar o seu aroma, a cor ou o sabor, modificar ou
manter o seu estado fsico ou textura. Substncias adiciona-
das com o objectivo principal de elevar o valor nutritivo, tais
como vitaminas, sais minerais e outros, no so includas na
categoria de aditivos alimentares.
Os aditivos sempre estiveram presentes na nossa alimen-
tao. Os nossos antepassados usaram sal para preservar car-
nes e peixes; adicionaram ervas e temperos para melhorar o
sabor dos alimentos; preservaram frutas com acares e con-
servaram vegetais com vinagre.
Com o desenvolvimento da indstria alimentar, mais aditi-
vos tm sido utilizados. A existncia de um grande nmero de
novos produtos tais como os de baixo valor calrico (light), a
comida fast-foode a comida embalada, no seria possvel sem
os aditivos. Sem eles, a variedade de alimentos disponveis e o
tempo em que se manteriam em condies de consumo,
seriam muito mais reduzidas.
Os aditivos alimentares so reunidos em diferentes grupos
conforme as suas funes, entre os quais:
Acidulantes intensificam o gosto ou sabor cido aos
alimentos processados.
Antioxidantes retardam a degradao dos alimentos
por oxidao, uma vez que impedem a sua interaco com o
oxignio.
Aromatizantes e flavorizantes conferem ou intensifi-
cam o aroma e/ou sabor aos alimentos.
Conservantes retardam a deteriorao dos alimentos
por microrganismos.
Corantes intensificam a cor natural dos alimentos ou
conferem-lhes outra cor.
Edulcorantes conferem sabor doce aos alimentos.
Estabilizantes favorecem e mantm as caractersticas
fsicas das emulses e suspenses. Promovem a mistura
homognea de substncias como leo e gua, aumentam
a viscosidade dos ingredientes e evitam a formao de
cristais.
Espessantes aumentam a viscosidade de solues,
emulses e suspenses, melhorando a textura e a consistncia
dos alimentos processados.
Espumferos participam na produo de espumas,
gerando espuma estvel.
Antiespumferos evitam a formao de espuma
durante o processamento de certos alimentos.
A cada um destes grupos de aditivos corresponde um cdi-
go, vlido em todos os pases da Unio Europeia, constitudo
pela letra E (de Europa) seguida de trs algarismos. Por exem-
plo, os corantes vo de E100 a E199, os conservantes de E200 a
E299 e os antioxidantes de E300 a E330. Frequentemente,
necessrio utilizar vrios aditivos em simultneo, porque eles
prprios se degradam e precisam de outros compostos para os
estabilizar.
O uso de aditivos um tema controverso. Algumas pes-
soas lembram que todos os aditivos autorizados foram sujei-
tos a rigorosos testes de toxicidade, sendo o seu uso controla-
do por entidades oficiais que, em qualquer momento, os retira-
ro do mercado, caso a sua inocuidade seja posta em dvida.
Outras defendem que estas substncias podem desencadear
alergias e que h sempre aspectos que escapam comunida-
de cientfica, nomeadamente, o facto de pouco se saber sobre
as consequncias da sua utilizao em associao e os seus
sinergismos (capacidade de se potencializarem uns aos
outros).
Actualmente, como os consumidores comeam a descon-
fiar da presena dos E, estes so omitidos, aparecendo nos
rtulos o nome prprio do aditivo. o caso do cido ctrico que,
embora exista naturalmente nas laranjas e limes no deixa
de ser um produto qumico, incorporado fora do seu contexto
natural, no trazendo benefcios para a sade, ao contrrio do
consumo de citrinos.
ADITIVOS ALIMENTARES
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
17
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 43
44 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
Tpicos de discusso
3Enumerar os efeitos do tabaco nas vias respiratrias.
3Relacionar os efeitos do tabaco sobre as vias respiratrias com os sintomas sentidos pelos fuma-
dores.
Para perceber melhor os efeitos
do tabaco sobre os pulmes neces-
srio conhecer o sistema respiratrio
e o seu funcionamento.
As vias respiratrias tm o papel
de purificar e aquecer o ar que passa
atravs delas de e para os pulmes.
O nariz a primeira linha de defesa,
interceptando muitas das impurezas
presentes no ar. Os fumadores pas-
sam por cima deste filtro natural
ao inalarem o fumo pela boca pas-
sando-o directamente para a traqueia e daqui para os
pulmes.
O fumo do tabaco, alm de outros efeitos, actua sobre as
vias respiratrias alterando as suas caractersticas e prejudi-
cando o desempenho das suas funes. O alcatro existente
no fumo do tabaco uma substncia agressiva que irrita a
parede dos brn-
quios, causando um
estreitamento das
vias respiratrias, o
que torna a respira-
o mais difcil.
Todo o aparelho
respiratrio reves-
tido por milhes de
clulas colunares
que esto interliga-
das por clulas se-
cretoras de muco. No topo de cada clula colunar, h tufos de
clios (plos microscpicos). Estas pequenas escovas agi-
tam-se para trs e para a frente mais de 60 vezes por segun-
do. O movimento para baixo, em direco aos pulmes,
lento e suave, enquanto o movimento em direco garganta
e ao nariz rpido e vigoroso. Uma camada de muco viscoso
circula no topo dos clios, prendendo a poeira e outros conta-
minantes do ar. Os compostos irritantes do tabaco causam
um aumento da quantidade de clu-
las secretoras de muco, tornando a
camada de muco mais espessa, o
que provoca uma obstruo adicio-
nal nas vias respiratrias. Alguns dos
compostos do tabaco travam os
movimentos dos clios. Existem pro-
vas que demonstram que a primeira
inalao de um cigarro pra os bati-
mentos dos clios durante, pelo
menos, uma hora. Deste modo, o
muco, demasiado espesso, no pode
ser facilmente deslocado na direco da boca, onde normal-
mente engolido ou cuspido. Isto significa que ao tossir, o
fumador usa a nica forma que lhe resta para limpar os seus
pulmes. Algumas das substncias que provocam o cancro
do pulmo atacam os clios. Deste modo, o alcatro entra em
contacto com as clulas colunares que, alm de perderem os
seus clios, se alte-
ram, tornando-se
planas e escamosas.
Nos pulmes, os
alvolos so reves-
tidos interiormente
por um fluido con-
tendo um detersivo.
Esta substnci a,
semelhante a um
detergente, facilita
a expanso dos al-
volos durante a inspirao e impede o seu colapso duran-
te a expirao. Os qumicos presentes no fumo de tabaco
bloqueiam a formao desta substncia e os alvolos per-
dem elasticidade; as suas paredes enfraquecem e, final-
mente, rompem. Vrios alvolos unem-se, formando uma
cavidade maior e sem elasticidade. assim necessria
uma maior presso para expelir o ar dos pulmes, o que
enfraquece ainda mais suas paredes.
INFLUNCIA DO TABACO NAS VIAS RESPIRATRIAS
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
18
Clulas ciliadas na parede das fossas nasais
Pulmo saudvel Pulmo de um fumador
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 44
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
19
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 45
O teste de Fagerstrm utilizado para determinar a dependncia que o fumador apresenta nicotina. Este teste
composto pelas seguintes questes:
1. Quanto tempo depois de acordar fuma o primeiro cigarro do dia?
Em 5 minutos ou menos ............................ (3 pontos)
Em 6-30 minutos ........................................... (2 pontos)
Em 31-60 minutos ......................................... (1 ponto)
Mais de 60 minutos ....................................... (0 pontos)
2. Sente dificuldade em no fumar em locais onde proibido?
Sim ......................................................................... (1 ponto)
No ......................................................................... (0 pontos)
3. Qual o cigarro que mais dificuldade teria em renunciar?
O primeiro da manh .................................... (1 ponto)
A qualquer um dos outros ......................... (0 pontos)
4. Quantos cigarros fuma por dia?
31 ou mais .......................................................... (3 pontos)
21-30 ..................................................................... (2 pontos)
11-20 ...................................................................... (1 ponto)
10 ou menos ...................................................... (0 pontos)
5. Fuma com mais frequncia nas primeiras horas depois de acordar do que durante o resto do dia?
Sim ......................................................................... (1 ponto)
No ......................................................................... (0 pontos)
6. Fuma tambm quando est doente e acamado?
Sim ......................................................................... (1 ponto)
No ......................................................................... (0 pontos)
A pontuao obtida pela soma das pontuaes parciais das 6 perguntas e o grau de dependncia classificado
baixo se a pontuao obtida variar entre 0 e 3 pontos, mdio se variar entre 4 e 6 pontos e elevado se variar
entre 7 e 10 pontos.
TESTE DE FAGERSTRM
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 45
46 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
FICHA DE TRABALHO N.
o
6 O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO
Competncias:
3Conhecer a morfologia e a fisiologia do sistema nervoso.
3Conhecer a natureza e a conduo do impulso nervoso.
3Explicar actos reflexos.
3Relacionar o sistema nervoso com a coordenao do organismo.
3Relacionar os constituintes sanguneos com as respectivas funes.
1. Na figura abaixo esto representados os rgos e as estruturas do sistema nervoso. Observa-a aten-
tamente.
Redes Neurais
Neurnio
Sinapse
Centro
nervoso
1
2
3
1.1 Identifica as estruturas do centro nervoso assinaladas pelos nmeros 1, 2 e 3.
1.2 Classifica cada uma das seguintes afirmaes como verdadeira (V) ou falsa (F).
A. Os neurnios so as clulas bsicas do sistema nervoso.
B. As sinapses encontram-se nos axnios.
C. Nos centros nervosos no existem sinapses.
D. As redes neurais so constitudas por neurnios.
E. A medula espinal um centro nervoso.
F. Os neurnios conduzem os impulsos nervosos.
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 46
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 47
2. Considera o arco reflexo esquematizado na figura seguinte.
2.1 Selecciona a opo que completa correctamente a afirmao:
As letras A e B representam respectivamente
a. os neurnios e os nervos.
b. nervos sensitivos e msculos.
c. nervos motores e nervos sensitivos.
d. nervos sensitivos e nervos motores.
2.2 Identifica:
2.2.1 o rgo efector;
2.2.2 o receptor do estmulo.
2.2.3 o centro nervoso responsvel pela resposta.
2.3 Refere o efeito de uma interrupo no ponto indicado pela letra A.
3. Analisa atentamente o quadro seguinte, onde se encontram registados os resultados de um exame ao san-
gue de trs pacientes adultos, do sexo masculino, assim como os valores considerados normais para indiv-
duos clinicamente sos.
3.1 Indica qual dos pacientes tem mais dificuldades na coagulao do sangue. Justifica a tua resposta com
base na informao contida no quadro.
3.2 Indica qual dos pacientes tem mais dificuldades em garantir o fornecimento de oxignio s suas clu-
las. Justifica a tua reposta com base na informao contida no quadro.
3.3 Refere qual dos pacientes poder estar a sofrer uma infeco. Justifica a tua resposta com base na
informao contida no quadro.
Pele
Msculo
A
B
Medula
espinal
HEMCIAS
(n.
o
/mm
3
)
LEUCCITOS
(n.
o
/mm
3
)
PLAQUETAS
(n.
o
/mm
3
)
Paciente 1 7 500 000 560 250 000
Paciente 2 6 100 000 12 100 260 000
Paciente 3 2 200 000 5000 50 000
Valores-padro 4 600 000 a 6 200 000 4300 a 10 000 150 000 a 500 000
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 47
48 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
FICHA DE TRABALHO N.
o
7 O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO
Competncias:
3Conhecer a fisiologia e a funo do corao.
3Conhecer a anatomia e a fisiologia do sistema respiratrio.
3Explicar o mecanismo da ventilao pulmonar.
1. Na figura seguinte est representado um corte do corao humano. Observa-a com ateno.
Artria
aorta
Vlvula
tricspide
AD = Aurcula direita
AE = Aurcula esquerda
VD = Ventrculo direito
VE = Ventrculo esquerdo
AD
VD
VE
AE
Artria
pulmonar
Vlvula bicspide
ou mitral
Veias
pulmonares
miocrdio
Veia cava
inferior
Veia
cava superior
1.1 Refere qual a funo do corao.
1.2 Selecciona a opo que completa correctamente cada uma das afirmaes:
1.2.1 No corao, o sangue venoso circula
a. na aurcula direita e na aurcula esquerda.
b. na aurcula direita e no ventrculo direito.
c. na aurcula esquerda e no ventrculo esquerdo.
d. no ventrculo direito e no ventrculo esquerdo.
1.2.2 As vlvulas tricspide e mitral tm como funo
a. obrigar o sangue a sair do corao, levando-o a entrar nas artrias aorta e pulmonar.
b. impedir que o sangue retroceda para os ventrculos, quando abandona o corao.
c. impedir que o sangue retroceda dos ventrculos para as aurculas durante a sstole auricular.
d. impedir que o sangue retroceda dos ventrculos para as aurculas durante a sstole
ventricular.
1.2.3 Uma distole corresponde
a. oxigenao do sangue.
b. transformao do sangue arterial em sangue venoso.
c. a um relaxamento do msculo cardaco.
d. a uma contraco do msculo cardaco.
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 48
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 49
2. Observa atentamente a figura ao lado, que representa
o sistema respiratrio humano.
2.1 Faz a legenda da figura.
2.2 Apresenta as razes que permitem justificar a afir-
mao: O esquema corresponde fase da expira-
o.
2.3 Em relao inspirao podemos afirmar:
a. O volume da caixa torcica diminui.
b. O volume da caixa torcica aumenta.
c. O diafragma relaxa.
d. Os pulmes aumentam de volume.
e. Os pulmes acompanham o movimento da caixa
torcica.
f. Os msculos intercostais contraem-se.
(Selecciona as opes correctas.)
3. No quadro seguinte encontram-se resumidos os resultados de um estudo relacionado com a funo respi-
ratria. Observa-o com ateno.
3.1 Aps a anlise do quadro, refere:
3.1.1 o nmero de movimentos respiratrios numa situao de repouso.
3.1.2 a situao em que o volume de ar inspirado maior.
3.2 Refere como varia o consumo de oxignio com o tipo de actividade desenvolvida.
3.3 Com base nos dados do quadro, justifica a seguinte afirmao: A ventilao pulmonar adapta-se
actividade fsica realizada.
3.4 Apresenta uma justificao para o aumento do valor de dixido de carbono eliminado quando a activi-
dade fsica mais intensa.
3.5 O sistema respiratrio no suficiente para garantir o fornecimento de oxignio s clulas. Menciona
que outro sistema intervm neste processo.
3.6 Refere o nome atribudo ao processo de trocas gasosas que ocorrem ao nvel dos alvolos pulmonares.
1
2
3
4
5
6
7
SITUAO
MOVIMENTOS
RESPIRATRIOS
(n.
o
/min.)
VOLUME DE AR
INSPIRADO
(ml/min.)
DIXIDO DE CARBONO
EXPIRADO
(ml/min.)
OXIGNIO INSPIRADO
(ml/min.)
Prtica
desportiva
29 55 000 2100 2600
Visionamento
de um filme
16 24 000 950 1200
Dormir 12 6000 250 300
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 49
50 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
FICHA DE TRABALHO N.
o
8 O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO
Competncias:
3Conhecer a anatomia e a fisiologia do sistema digestivo.
3Compreender o processo digestivo.
3Compreender a importncia da absoro
3Conhecer a anatomia e a fisiologia do tubo urinfero.
3Compreender as etapas de formao da urina.
1. Observa atentamente a figura ao lado, que representa o sistema
digestivo.
1.1 Indica, em cada alnea, o nome do rgo e o respectivo nmero
que o identifica na figura:
a. local onde os alimentos sofrem a primeira aco mecnica;
b. rgo onde ocorre a maior parte da absoro dos nutrientes;
c. os seus movimentos peristlticos permitem a deslocao
do bolo alimentar;
d. glndula onde se produz a blis;
e. rgo onde se formam as fezes;
f. rgo onde actua o suco gstrico;
g. bolsa onde armazenada a blis.
2. O grfico seguinte indica o resultado da digesto de um bife de frango e de uma poro de batatas
fritas. Analisa-o atentamente.
2.1 Com base nos conhecimentos que tens sobre a digesto, indica qual das duas curvas, I ou II, repre-
senta a digesto do bife de frango e qual representa a das batatas fritas. Justifica tua escolha.
2.2 Observa-se numa pessoa uma diminuio crnica da libertao de suco gstrico pelas suas
clulas da mucosa estomacal.
1
2
3
4
5
6
7
A
I
II
B
Boca
A Ponto em que o alimento est intacto,
ou seja, entrou no organismo.
B Ponto em que o alimento j foi
praticamente digerido.
Alimento
no digerido (%)
rgos
Estmago Duodeno Intestino delgado
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 50
Assinala a opo que descreve a alterao fisiolgica que esta pessoa apresenta:
a. prejuzo da digesto de protenas no estmago; c. diminuio do pH do estmago;
b. prejuzo da digesto de lpidos no estmago; d. diminuio da aco da blis no estmago.
3. A doena celaca uma doena cujo portador apresenta uma intolerncia permanente ao glten
(mistura de protenas), presente no trigo, centeio e cevada e aveia. Nessas pessoas, a ingesto de
glten provoca leses na mucosa do intestino que levam atrofia das vilosidades intestinais,
causando prejuzo na absoro dos nutrientes, vitaminas, sais minerais e gua.
3.1 Explica por que motivo a reduo das vilosidades intestinais provoca emagrecimento e diminuio do
crescimento do organismo.
4. Observa a figura, que representa a unidade funcional do rim.
4.1 Indica o nome da unidade funcional do rim representada na figura.
4.2 Faz a legenda da figura.
4.3 Indica as funes das estruturas representadas respectivamente pelos nmeros 1 e 5.
4.4 Diariamente so produzidos cerca de 180 l de filtrado glomerular e apenas 1,5 l de urina. Explica
esta diferena.
4.5 Selecciona a opo que completa correctamente a afirmao:
A composio qumica da urina produzida pelos rins humanos
a. exactamente igual do filtrado glomerular.
b. igual do filtrado glomerular mas com menos gua, entretanto reabsorvida.
c. igual do filtrado glomerular, mas sem as substncias entretanto reabsorvidas.
d. igual do filtrado glomerular mas com as substncias entretanto secretadas.
e. igual do filtrado glomerular mas com as substncias entretanto secretadas e sem parte da
gua e de outras substncias reabsorvidas.
4.6 Explica a importncia do processo de reabsoro verificada durante a formao da urina.
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 51
6
4 5
3
1
2
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 51
52 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
FICHA DE TRABALHO N.
o
9 O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO
Competncias:
3Explicar o significado da roda dos alimentos.
3Conhecer a dieta mediterrnica.
3Conhecer a funo dos nutrientes no organismo.
3Conhecer as consequncias do consumo de drogas.
1. A figura seguinte mostra a roda dos alimentos.
1.1 Explica o significado da roda dos alimentos.
1.2 Classifica como verdadeira (V) ou falsa (F) cada
uma das afirmaes que se seguem.
a. O grupo das gorduras deve ser o menos repre-
sentado na alimentao diria.
b. O grupo da carne, peixe e ovos fornece alimentos
ricos em protenas.
c. O grupo das leguminosas o principal fornece-
dor de clcio e fsforo.
d. Os alimentos do grupo da fruta so ricos em lpi-
dos.
e. As fibras alimentares so fornecidas sobretudo pelos grupos dos lacticnios e da carne, peixe e
ovos.
f. O grupo dos cerais fornece glcidos ao organismo.
1.3 A roda dos alimentos foi elaborada a partir da dieta mediterrnica. Explica por que razo este
tipo de dieta considerada uma das mais saudveis do mundo.
2. Uma avaliao da sade dos habitantes de uma localidade permitiu detectar altos ndices de ane-
mia, de bcio e de crie dentria. Foram ento feitas as seguintes propostas para melhorar a sade
da populao:
Proposta I - distribuio de leite e derivados.
Proposta II - adicionar flor gua que abastece a localidade.
Proposta III - adicionar iodo ao sal consumido na regio.
Proposta IV - incentivar os habitantes a consumirem verduras e legumes.
Analisando as propostas, indica:
a. a que traria maior benefcio populao no combate ao bcio. Justifica.
b. a que poderia reduzir a incidncia de cries dentrias. Justifica.
c. a que ajudaria a reduzir do nmero de pessoas com anemia.
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 52
O ORGANISMO HUMANO EM EQUILBRIO 53
3. L atentamente o seguinte texto:
Os compostos agressivos do tabaco irritam as paredes dos brnquios, causam um estreitamento das
vias respiratrias e provocam o aumento da quantidade de clulas secretoras de muco, tornando a
camada de muco mais espessa, o que provoca uma obstruo adicional nas vias respiratrias. Alguns
dos compostos do tabaco travam os movimentos dos clios ou causam a sua destruio.
3.1 Indica a principal consequncia da destruio dos clios presentes nas vias respiratrias.
3.2 Refere outros efeitos do hbito de fumar.
3.3 Algumas pessoas, embora no sejam fumadoras, sofrem dos efeitos nocivos do tabaco. Explica
esta afirmao.
3.4 As mulheres grvidas devem ter particulares cuidados com os efeitos nocivos do tabaco. Explica
porqu.
4. O grfico seguinte mostra o nmero de copos de bebidas destiladas consumidos por alunos portu-
gueses na ltima ocasio em que beberam.
4.1 Descreve a variao do consumo de bebidas destiladas com a idade.
4.2 Refere as consequncias que o consumo de lcool tem nos jovens.
4.3 Indica outros comportamentos de risco que podem afectar a sade dos jovens.
0
18 anos
17 anos
16 anos
15 anos
14 anos
13 anos
13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos
0,4 1 1,4 1,9 2,8 2,6
0,6 1,9 3,3 5,5 6,2 6,8
2,7 4,8 9,6 14,4 16,8 19,2
10 13,7 16 16,3 18,1 18,4
5,5 10,2 14 17,9 21,6 22,5
80,8 68,4 55,8 43,9 34,5 30,4
6 ou + copos
3 a 5 copos
1 a 2 copos
Menos do que 1 copo
No bebi
Nunca bebo destiladas
Dimenso do consumo, por grupo etrio Total de alunos
20 40 60 80 100
Fonte: IDT
Intensidade na ltima ocasio de bebida n.
o
de copos (%)
CAP_CN9_PG032_053 6/18/08 2:35 PM Page 53
CINCIA E TECNOLOGIA
E QUALIDADE DE VIDA
4.1
BENEFCIOS E RISCOS
DA CINCIA E TECNOLOGIA
PARA AS POPULAES
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 54
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 55
56 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
1. Cincia
e tecnologia
e qualidade
de vida
4.1 Benefcios
e riscos da cincia
e tecnologia para
as populaes
4.1.1 Agricultura,
pecuria
e transformao
de alimentos
4.1.2 Fabrico
e utilizao de
produtos
4.1.3 Exposio
a radiaes
4.1.4 Transporte
de substncias
perigosas.
3Realizar inferncias,
generalizaes e dedues.
3Demonstrar a capacidade
de expor e defender ideias.
3Pesquisar, seleccionar
e organizar informao para
a transformar em
conhecimento mobilizvel.
3Realizar actividades de forma
autnoma, responsvel
e criativa.
3Usar correctamente a lngua
portuguesa.
3Utilizar novas tecnologias de
informao e comunicao.
3Rentabilizar as tecnologias de
informao e comunicao na
construo do saber e na sua
comunicao.
3Manifestar perseverana
e seriedade no trabalho.
3Apresentar atitudes e valores
inerentes ao trabalho
cooperativo.
3Cooperar com os outros em
projectos comuns.
Reconhecer que a cincia
e a tecnologia tm contribudo
para a melhoria da qualidade
de vida.
3 Identificar temas que
preocupam as sociedades.
3 Enumerar situaes em que
os avanos cientficos
e tecnolgicos tiveram
implicaes na qualidade
de vida das populaes.
3 Compreender de que modo
a sociedade tem condicionado
o rumo dos avanos cientficos
e tecnolgicos na rea da sade
e segurana global.
3 Avaliar os riscos e benefcios
envolvidos no progresso
cientfico e tecnolgico.
3 Conhecer algumas reas da
evoluo tecnolgica que
preocupam a sociedade.
3 Reconhecer que a tomada de
decises envolve aspectos
sociais, econmicos, ambientais
e culturais.
3 Reconhecer a aplicao de
novas tecnologias na
agricultura e na indstria.
3 Enumerar vantagens e
desvantagens da agricultura
biolgica relativamente
agricultura moderna.
Brainstorming sobre
situaes em que os avanos
cientficos e tecnolgicos
tiveram implicaes (positivas
e negativas) na qualidade de vida
das populaes.
Explorao de filmes sobre
avanos tcnicos com aplicaes
na sade, transportes ou outros.
Visita de estudo a exploraes
de agricultura biolgica
e de agricultura intensiva, com
o objectivo de familiarizar
os alunos com os dois tipos
de agricultura.
Os alunos podero ainda visitar
indstrias alimentares ou de
transformao tomando
contacto com a aplicao de
novas tecnologias no fabrico de
produtos utilizados no seu
quotidiano.
Organizao de palestras ou
debates. Em colaborao com
associaes ambientais ou
organizaes agrcolas, por
exemplo, podero ser
promovidas palestras sobre
vantagens e riscos dos
diferentes tipos de agricultura.
Recolha e anlise de notcias
veiculadas pelos meios
de comunicao social sobre
os progressos tecnolgicos
e as respectivas aplicaes
e consequncias.
Resoluo de actividades
do Manual.
2
PLANIFICAO
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 56
CINCIA E TECNOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA 57
CONTEDOS
PROGRAMTICOS
GERAIS ESPECFICAS
SUGESTES
METODOLGICAS
AULAS
PREVISTAS
(45 min.)
COMPETNCIAS
3Adoptar metodologias
personalizadas de trabalho
e de aprendizagem adequadas
aos objectivos visados.
3Respeitar regras de utilizao
de equipamentos e espaos.
3Assumir atitudes de flexibilidade
e de respeito face a novas ideias.
3Avaliar criticamente atitudes
desenvolvidas pela comunidade.
3Manifestar sentido crtico.
3Assumir atitudes de cidadania
responsvel.
Explorao de textos
e actividades existentes no
Caderno de Apoio ao Professor.
Explorao dos recursos
propostos no Manual Multimdia.
Nota: O tema Cincia e tecnologia e qualidade de vida transversal a todo o programa, pelo que poder ser abordado ao
longo do ano, nos diferentes temas estudados.
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 57
58 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
DOCUMENTOS DE AMPLIAO
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
20
O prefixo nano exprime a ideia de extrema pequenez.
Um nanmetro corresponde a um milionsimo do milme-
tro, ou seja, um milho de vezes inferior a um milmetro.
Representa uma dimenso to diminuta que uma estrutura
nanodimensionada tem de ser ampliada mais de 10
milhes de vezes para a podermos facilmente ver.
A nanotecnologia est associada a
reas como a medicina, a cincia da com-
putao, a fsica, a qumica, a biologia e a
engenharia dos materiais e refere-se, no
apenas ao estudo daquilo que muito
pequeno, mas tambm s tecnologias em
que a matria manipulada escala at-
mica e molecular para o fabrico de novos
materiais e ultra-miniaturizao, de que
resultam di sposi ti vos cada vez mai s
pequenos.
A i nvesti gao, fundamental para
explorar todo o potencial da nanotecnologia, tem vindo a
orientar-se em trs direces:
Na nanoelectrnica, especialmente no desenvolvi-
mento de computadores a escalas significativamente
mais pequenas. Esta rea poder criar computadores
muito mais potentes para utilizao em telefones,
carros, aparelhos domsticos e numa infinidade de
outras aplicaes domsticas e industriais.
Na nanobiotecnologia com aplicao, por exemplo,
na medicina. Prev-se o aparecimento de materiais
biolgicos nanoescala que possam reparar tecidos
danificados de aparelhos e de sensores e outros
nanoaparelhos que, uma vez implantados no corpo
dos pacientes, podero fornecer frmacos inteligen-
tes com aco dirigida ao foco da doenas sem agre-
dir o resto do organismo.
Nos nanomateriais, cujo objectivo o controlo da
morfologia das substncias ou partculas, escala do
nanmetro, para produzir novos materiais com pro-
priedades melhoradas que sero aplicados, por
exemplo, em painis solares mais eficientes, revesti-
mentos anticorroso, ferramentas de corte mais slidas e
mais duras, purificadores de ar, aparelhos mdicos mais
duradouros ou catalisadores qumicos mais eficientes.
Algumas aplicaes da nanotecnologia, como ecrs de
televiso feitos de nanotubos ou calas feitas de nanotx-
teis que no se sujam facilmente, j esto disposio dos
consumidores. As potenciais aplicaes
da nanotecnologia iro, em breve, con-
templar uma vasta gama de produtos,
nomeadamente, novos alimentos, novos
aparelhos mdicos, revestimentos de
automveis capazes de aproveitar a ener-
gia solar e armazen-la, sensores para sis-
temas de segurana, unidades de depura-
o de gua para naves espaciais habita-
das, monitores para jogos de computado-
res portteis e ecrs de cinema de alta
resoluo ou vidros pra-brisas que reflec-
tem a luz e a radiao trmica, poupando energia.
A nanotecnologia um avano da cincia e tecnologia
to importante que o seu impacto poder chegar a com-
parar-se ao da Revoluo Industrial. No entanto, prev-se
que se desenvolver to rapidamente que poder apa-
nhar a humanidade desprevenida sobre os potenciais ris-
cos que lhe esto associados. Eis alguns exemplos desses
riscos:
Atravs da nanotecnlogia, a produo de armas
(muito mais pequenas, potentes e numerosas) e de apare-
lhos de espionagem poder vir a ter um custo to baixo
que poderemos assistir a uma corrida aos armamentos
entre os pases mais desenvolvidos.
Os baixos custos e as maiores facilidades de produ-
o podero levar a profundas alteraes econmicas
com graves consequncias sociais e polticas (por exem-
plo, aumento das taxas de desemprego ou aumento da
diferenciao entre classes sociais).
A proliferao e a maior acessibilidade de produtos
cujo fabrico poder vir a causar importantes danos ao
meio ambiente.
NANOTECNOLOGIA
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 58
CINCIA E TECNOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA 59
Tpicos de discusso
3Reflectir sobre as potencialidades da nanotecnologia.
3Enumerar aplicaes actuais e futuras da nanotecnologia.
3Reflectir sobre os perigos da aplicao da nanotecnologia.
O trfico ilcito de produtos muito pequenos (e peri-
gosos) torna-se muito difcil de controlar e pode vir a cair
sobre o domnio de redes criminosas ou terroristas.
Para desfrutarmos dos enormes benefcios que a
nanotecnologia oferece imprescindvel encarar e resol-
ver estes riscos.
Tpicos de discusso
3Reflectir a importncia que os nanorrobs podero vir a desempenhar no tratamento de doenas.
3Discutir os problemas ticos que estas tecnologias podero colocar sociedade.
Governos, centros de pesquisa e grandes empresas priva-
das esto a investir vultosas quantias de dinheiro para o desen-
volvimento de componentes nanoscpicos que serviro de
base construo de mquinas minsculas os nanorrobs.
A medicina uma das reas
onde estes robs tero maio-
res aplicaes.
A cincia tem centrado
esforos na criao de siste-
mas de diagnstico e de ima-
gem capazes de detectar uma
nica clula doente ou trans-
formada. Prev-se que dentro
de alguns anos, nanorrobs,
milhares de vezes menores do
que a espessura de um cabelo,
sejam injectados na corrente
sangunea dos pacientes para
analisar a superfcie e o interior de clulas sem as danificar,
permitindo diagnsticos mais precisos. Eventualmente, pode-
ro ser utilizados para desobstruir vasos sanguneos ou des-
truir clulas danificadas, permitindo, por exemplo, combater
clulas cancergenas ou vrus, como os da SIDA ou da hepatite.
O transporte de medicamentos directamente at clulas pre-
definidas uma das maiores potencialidades desta tecnologia.
Esta preciso permitiri, por exemplo, evitar os efeitos colate-
rais sobre clulas ss localizadas nas vizinhanas das clulas a
tratar.
As estratgias para eliminar os nanorrobs do corpo dos
pacientes aps a concluso da
sua misso ainda esto em fase
de desenvolvimento.
Alguns cientistas pensam
mesmo que um dia clulas san-
guneas humanas podero vir a
ser substitudas por alguns
milhes de nanorrobs, capazes
de desempenhar as funes
essenciais do sangue humano,
nomeadamente:
Eliminao de parasitas,
bactrias, vrus e clulas cance-
rgenas.
Erradicao da maioria das doenas cardiovasculares,
nomeadamente, da arteriosclerose.
Processamento mais rpido do oxignio, com aumento
da fora e vigor fsicos.
Reduo da susceptibilidade a agentes qumicos e parasi-
tas de todos os tipos, eliminando-se, assim, as alergias.
NANORROBTICA
tomo
Molcula
Nanopartcula
Vrus Bactria
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
21
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 59
60 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
Tpicos de discusso
3Reflectir sobre as vantagens da agricultura biolgica relativamente agricultura intensiva.
3Reflectir em que medida a agricultura intensiva modificou o tecido social em Portugal.
3Reflectir sobre as potencialidades da agricultura biolgica em Portugal.
Existem cada vez mais problemas nos domnios da
agricultura, do ordenamento do espao rural, da gesto
dos recursos naturais, da sade pblica e outros. Os exce-
dentes agrcolas, a desertificao humana das regies des-
favorecidas, o esgotamento
e eroso dos solos, a polui-
o das terras e guas, a
reduo da biodiversidade,
os riscos dos organismos
geneticamente modificados
(OGM) e a contaminao de
produtos, foram os princi-
pais motivos que levaram
procura de modelos de
desenvolvimento sustent-
vel, com regras, princpios e
prticas que noutros tem-
pos eram comummente usados.
A agricultura biolgica, tambm conhecida como
agricultura orgnica (Brasil e pases de lngua inglesa),
agricultura ecolgica (Espanha e Dinamarca) ou agri-
cultura natural (Japo), baseia-se na interaco dinmi-
ca entre o solo, as plantas, os animais e os seres humanos,
considerados como uma cadeia indissocivel em que cada
elo afecta os restantes.
Os agricultores biolgicos tm como objectivos man-
ter ou melhorar a fertilidade do solo a longo prazo, preser-
vando os recursos naturais do solo, da gua e do ar, e mini-
mizar todas as formas de poluio que possam resultar
das prticas agrcolas. Por isso, rejeitam a utilizao de
adubos, pesticidas e produtos artificiais, como hormonas,
antibiticos, aditivos, conservantes de sntese e ainda de
OGM. Recorrem, preferencialmente, a prticas que promo-
vem o equilbrio dos ecos-
sistemas e protegem a bio-
diversidade, como a rota-
o de culturas, a utiliza-
o de adubos orgnicos
naturais (resduos das cul-
turas e estrumes de ani-
mais) ou a luta biolgica
contra pragas e doenas.
Assegurar condi es de
vida aos animais domsti-
cos que lhes permi tam
atingir os aspectos bsicos
do seu bem-estar, outro dos objectivos destes agricultores.
Portugal possui uma conjuntura favorvel ao desen-
volvimento da agricultura biolgica, nomeadamente, no
que respeita s caractersticas do clima e dos solos.
A diversidade de fauna e flora ainda existente e, acima de
tudo, o facto de muitas das formas tradicionais de produ-
o portuguesas serem muito prximas deste modo de
produo, faz do nosso pas um local de grande potencial
para este tipo de agricultura.
O nmero de consumidores dos produtos de agricultura
biolgica tem vindo a aumentar, apesar do preo destes
produtos ser superior aos da agricultura tradicional.
AGRICULTURA BIOLGICA
DOCUMENTO DE AMPLIAO N.
o
22
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 60
CINCIA E TECNOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA 61
FICHA DE TRABALHO N.
o
10 CINCIA E TECNOLOGIA
E QUALIDADE DE VIDA
Competncias:
3Identificar benefcios e riscos da utilizao de organismos geneticamente modificados.
3Reconhecer que os avanos da cincia e da tecnologia, dependendo da utilizao de que deles se faz,
podem trazer benefcios ou riscos humanidade.
3Reconhecer que os novos caminhos da cincia e da tecnologia representam desafios ao exerccio da
cidadania e s geraes futuras.
1. L atentamente o texto seguinte.
Em 1994 foi lanado no mercado norte-americano o primeiro produto geneticamente modificado
- tomate. Desde ento, muitos mais surgiram e o consumo de alimentos elaborados a partir de orga-
nismos geneticamente modificados (OGM) tem-se tornado uma prtica comum.
Estima-se que cerca de 65% dos produtos disponveis nos supermercados americanos conte-
nham ingredientes geneticamente modificados, em maior ou menor percentagem. Os norte-ameri-
canos so, alis, o povo que consome mais alimentos geneticamente modificados.
Estudos realizados nos EUA mostram que a populao encara com tranquilidade a modificao
gentica dos organismos, considerando que estes devem ser seguros, uma vez que j os consomem
h vrios anos sem adoecerem.
Contudo, alguns crticos afirmam que as pessoas consomem alimentos geneticamente modifica-
dos h relativamente pouco tempo e que poder haver efeitos a longo prazo que ainda se desconhe-
cem.
Na Unio Europeia, os alimentos geneticamente modificados tm de ser aprovados pelas autori-
dades antes de poderem ser comercializados. Para ser aprovado, um alimento geneticamente modi-
ficado dever ser sujeito a uma avaliao de risco alimentar. Nesta avaliao, so efectuadas expe-
rincias de alimentao com estes produtos em cobaias animais.
Outro aspecto muito polmico, relaciona-se com os eventuais impactos destes organismos no
equilbrio dos ecossistemas. At data, ainda no existe uma resposta completamente conclusiva
s questes relacionadas com as consequncias da exposio do ambiente s plantas geneticamen-
te modificadas.
1.1 Selecciona a opo que completa correctamente a afirmao:
Um organismo geneticamente modificado...
a. um clone de um ser humano.
b. um clone de um outro organismo, resultante de um cruzamento acidental.
c. um organismo resultante do cruzamento de indivduos de espcies diferentes.
d. um organismo cujos genes foram modificados intencionalmente pelo ser humano.
1.2 Menciona duas vantagens da utilizao dos OGM, segundo os seus defensores.
1.3 Refere as razes que levam os americanos a mostrarem-se tranquilos em relao aos OGM.
1.4 Indica quais so as medidas de segurana relativamente aos OGM em vigor na Unio Europeia.
1.5 Refere as razes que levam algumas pessoas a criticar a utilizao de alimentos produzidos a
partir de OGM.
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 61
62 Caderno de Apoio ao Professor 9 CN
1.6 Uma das plantas geneticamente modificadas mais utilizadas o milho. Refere exemplos de ali-
mentos elaborados a partir desta planta.
1.7 Frequentemente, os consumidores desconhecem que muitos dos produtos alimentares que
consomem foram elaborados a partir de OGM. Apresenta uma medida que possa ser imple-
mentada de modo a informar devidamente os consumidores.
1.8 A utilizao de OGM tem merecido a oposio de vrias associaes defensoras do ambiente.
Aponta as razes que levam estes ambientalistas a temerem os OGM.
1.9 Classifica como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmaes que se seguem.
a. Os cientistas no podem ter certezas quanto s consequncias dos OGM a longo prazo, uma
vez que as culturas geneticamente modificadas existem h relativamente pouco tempo.
b. Os alimentos elaborados a partir de OGM ainda no afectaram os consumidores.
c. Os cidados da Unio Europeia so os maiores consumidores de alimentos elaborados a partir
de OGM.
d. Na Unio Europeia a utilizao de um determinado OGM s possvel se for autorizada pelas
autoridades.
e. Os OGM j demonstraram que so perigosos para o ambiente e para a sade humana.
f. Os alimentos elaborados a partir de OGM distinguem-se pelo sabor dos seus equivalentes
elaborados a partir de organismos no modificados.
g. Os crticos da utilizao de OGM temem que estes se possam alastrar no meio e transferir
genes para espcies afins.
h. Os alimentos provenientes de OGM so sempre mais vantajosos, em termos nutritivos, rela-
tivamente aos alimentos elaborados a partir dos organismos tradicionais.
1.10 Selecciona a opo que completa correctamente a afirmao:
A produo de OGM est relacionada sobretudo com a evoluo da
a. ... fsica.
b. biotecnologia.
c. geologia.
d. matemtica.
2. Ao longo da histria, a sociedade condicionou e foi condicionada pelos avanos tecnolgicos.
Comenta esta afirmao.
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 62
63
AMABIS, J. Mariano, MARTHO, G. Rodrigues (1998) Biologia dos Organismos, vol. 2, Editora Moderna,
S. Paulo.
CARVALHO, Arslio et al. (1984) Biologia Funcional, Livraria Almedina, Coimbra.
CASTELLS, Eugeni [s.d.] O Direito Contracepo: Mtodos Anticoncepcionais e as suas Indicaes,
Dinalivro, Lisboa.
Instituto Nacional de Estatstica (2007) Estatsticas Demogrficas 2005.
Instituto Nacional de Estatstica (2007) Revista de Estudos Demogrficos, n.
o
40.
Instituto Nacional de Estatstica (2007) Revista de Estudos Demogrficos, n.
o
41.
MACKEAN, D. G. (1987) Introduo Biologia, Livraria Almedina, Coimbra.
MADER, Sylvia S. (1998) Biology, 6.
a
ed., McGraw-Hill, International Edition.
McCRONE, J. (2002) Como Funciona o Crebro. Editora Civilizao, col. Manuais Prticos de
Cincia, Porto.
MERCADANTE, C., et al. (1999) Biologia. Editora Moderna, S. Paulo.
PLICIER, Yves, THUILLIER, Guy [s.d.] A Droga, 3.
a
ed. Edies Itau, Lisboa.
PEREIRA, Maria Manuela, FREITAS, Filomena (2002) Educao Sexual: Contextos de Sexualidade e
Adolescncia, 3.
a
ed., Edies Asa, Porto.
RICHARD, Denis (1997) As Drogas, Instituto Piaget, Lisboa.
RIGUTTI, A. [s. d.] Atlas Ilustrado de Anatomia , Edies Girassol, Sintra.
RODRIGO, F. Guerra, MAYER-DA-SILVA, A.(2003) Doenas Transmitidas Sexualmente: Dermatologia e
Venereologia, Lidel, Lisboa.
SEELEY, Rod R., STEPHENS, Trent D., TATE, Philip (1997) Anatomia & Fisiologia, Lusodidacta, Lisboa.
SOUSA, ngelo de, et al. (2007) Consumo de Substncias Psicoactivas e Preveno em Meio Escolar,
Ministrio da Educao, Lisboa.
SPEROFF, Leon, DARNEY, Philip D. (1996) Contracepo: Clnica e Cirrgica, Revinter, Rio de Janeiro.
TUDGE, C. (2003) Alimentao do Futuro, col. Manuais Prticos de Cincia, Editora Civilizao,
Porto.
WALKER, R. (2004) Guia do Corpo Humano. Editora Civilizao, Porto.
BIBLIOGRAFIA
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 63
C
a
d
e
r
n
o
d
e
A
p
o
i
o
a
o
P
r
o
f
e
s
s
o
r
9
C
N
9
7
8
-
9
7
2
-
4
7
-
3
6
1
2
-
9
CAP_CN9_PG054_064 6/18/08 2:37 PM Page 64
Você também pode gostar
- Dieta Anti-InflamatóriaDocumento4 páginasDieta Anti-InflamatóriaCamila Cabreras100% (5)
- Teste 1 - 2011/2012 (Biosfera Revestimento e Forma Dos Animais) - 5º AnoDocumento7 páginasTeste 1 - 2011/2012 (Biosfera Revestimento e Forma Dos Animais) - 5º Ano_Dave_Strider_81% (36)
- Livro de Testes de Matemática 9º Ano (C/ SOLUÇÕES)Documento48 páginasLivro de Testes de Matemática 9º Ano (C/ SOLUÇÕES)_Dave_Strider_81% (57)
- Livro de Testes de Matemática 9º Ano (C/ SOLUÇÕES)Documento48 páginasLivro de Testes de Matemática 9º Ano (C/ SOLUÇÕES)_Dave_Strider_81% (57)
- O Fio Da História 9 - Caderno Do ProfessorDocumento291 páginasO Fio Da História 9 - Caderno Do ProfessorCristina Paulo80% (15)
- Projeto de Extensão BiomedicinaDocumento7 páginasProjeto de Extensão Biomedicinathainamoreira4Ainda não há avaliações
- FQ 9ordm Professor PDFDocumento144 páginasFQ 9ordm Professor PDFMartaAndreiaSousa100% (2)
- Links Do UniareaDocumento2 páginasLinks Do UniareaTeresa silva100% (7)
- AvaliacaoDocumento48 páginasAvaliacaoAna Sofia Pacheco100% (1)
- A Descoberta Do Planeta Azul 8 PDFDocumento6 páginasA Descoberta Do Planeta Azul 8 PDFNina Dolores50% (6)
- 8ºano - FICHA 1 - Distribuição e Evolução Da População MundialDocumento2 páginas8ºano - FICHA 1 - Distribuição e Evolução Da População Mundial_Dave_Strider_86% (22)
- Planos de Aula PDFDocumento97 páginasPlanos de Aula PDFAndreia100% (1)
- fq8 BancoQuestoes-someluzDocumento13 páginasfq8 BancoQuestoes-someluzAntonio Manuel100% (1)
- Nota Técnica - Pre e ProbióticosDocumento13 páginasNota Técnica - Pre e ProbióticosLeonardo AzevedoAinda não há avaliações
- Ciências Aplicadas - ApostilaDocumento59 páginasCiências Aplicadas - ApostilaAlex FerreiraAinda não há avaliações
- 3623 Dermocosmetica Base PDFDocumento291 páginas3623 Dermocosmetica Base PDFmgua100% (3)
- Questões e Desafios FQ9Documento49 páginasQuestões e Desafios FQ9Susana Chaves67% (6)
- Gps 8Documento6 páginasGps 8Raul33% (3)
- Livro de TestesDocumento66 páginasLivro de TestesInes Barão100% (2)
- Mapa Mundo 9 - Caderno de Apoio Ao Professor 1Documento69 páginasMapa Mundo 9 - Caderno de Apoio Ao Professor 1Susana Araújo80% (5)
- Gvis8 Livro Do Professor PDFDocumento304 páginasGvis8 Livro Do Professor PDFSónia Ribeiro100% (1)
- Book Downloadable PDFDocumento257 páginasBook Downloadable PDFvmsoliveira89% (9)
- Teste 1 - 5º Ano - Biosfera, Forma e Revestimento Dos Animais (NEE)Documento4 páginasTeste 1 - 5º Ano - Biosfera, Forma e Revestimento Dos Animais (NEE)_Dave_Strider_90% (10)
- Proposta de Teste Intermédio de Matemática (9º Ano) 2012Documento6 páginasProposta de Teste Intermédio de Matemática (9º Ano) 2012_Dave_Strider_100% (3)
- Zoom8 Dossie Professor Aval PDFDocumento88 páginasZoom8 Dossie Professor Aval PDFRaquel100% (5)
- Sist Reprod FDocumento50 páginasSist Reprod FvanessacrisjAinda não há avaliações
- nwr9 TR Pag 121 135Documento15 páginasnwr9 TR Pag 121 135Pedro50% (4)
- P9 Livro TestesDocumento66 páginasP9 Livro Testesclaudiesoares935183% (23)
- Teste Ciências 9 AnoDocumento6 páginasTeste Ciências 9 AnoMaria Do Mar Carmo Cordeiro100% (5)
- Sistema Digestivo Aves, Ruminantes e OmnivorosDocumento28 páginasSistema Digestivo Aves, Ruminantes e Omnivorosandregafanha96% (24)
- Livro de Fichas Formativas de Ciências Naturais (9º Ano) - COM SOLUÇÕESDocumento32 páginasLivro de Fichas Formativas de Ciências Naturais (9º Ano) - COM SOLUÇÕES_Dave_Strider_97% (37)
- Livro de Fichas Formativas de Ciências Naturais (9º Ano) - COM SOLUÇÕESDocumento32 páginasLivro de Fichas Formativas de Ciências Naturais (9º Ano) - COM SOLUÇÕES_Dave_Strider_97% (37)
- ASA FQ9 Teste 1Documento4 páginasASA FQ9 Teste 1joao100% (1)
- TESTE 1 (Recuperação) - Introdução Revestimento e Forma Dos AnimaisDocumento4 páginasTESTE 1 (Recuperação) - Introdução Revestimento e Forma Dos Animais_Dave_Strider_100% (3)
- Teste 1 - Filosofia (10º Ano) - Introdução À Filosofia Ação HumanaDocumento5 páginasTeste 1 - Filosofia (10º Ano) - Introdução À Filosofia Ação Humana_Dave_Strider_74% (47)
- Novo Viva A Historia 8Documento6 páginasNovo Viva A Historia 8Ana Noro Noro45% (11)
- Soluções Das Fichas Do 7º AnoDocumento2 páginasSoluções Das Fichas Do 7º Ano_Dave_Strider_67% (6)
- Cadernos de História 8 PDFDocumento36 páginasCadernos de História 8 PDFMaria Nogueira100% (3)
- Dpa9 Banco Questoes Mov ForcasDocumento39 páginasDpa9 Banco Questoes Mov Forcasceciliaguise0% (1)
- 7ºano. FICHA 5 - O RELEVO DA TERRADocumento3 páginas7ºano. FICHA 5 - O RELEVO DA TERRA_Dave_Strider_100% (14)
- Banco de Questões - À Descoberta Do Corpo Humano-9º AnoDocumento59 páginasBanco de Questões - À Descoberta Do Corpo Humano-9º AnoJosé Fialho83% (6)
- Programas de Promoção Da Saúde e Prevenção de Riscos e DoençasDocumento79 páginasProgramas de Promoção Da Saúde e Prevenção de Riscos e DoençasViviane BorgesAinda não há avaliações
- Teste de Avaliação (9º Ano) - Física e Química (+SOLUÇÕES)Documento5 páginasTeste de Avaliação (9º Ano) - Física e Química (+SOLUÇÕES)_Dave_Strider_74% (62)
- Teste de Avaliação (9º Ano) - Física e Química (+SOLUÇÕES)Documento5 páginasTeste de Avaliação (9º Ano) - Física e Química (+SOLUÇÕES)_Dave_Strider_74% (62)
- Ctic9 - Teste 2Documento6 páginasCtic9 - Teste 2Ana SoaresAinda não há avaliações
- MAPA - EM - 3 Ano - CIENCIAS NATUREZA 2024Documento102 páginasMAPA - EM - 3 Ano - CIENCIAS NATUREZA 2024ana.silva.moraisAinda não há avaliações
- Referencial STC3Documento1 páginaReferencial STC3malopAinda não há avaliações
- Ficha Trabalho Clima - NetDocumento4 páginasFicha Trabalho Clima - NetSílvia GomesAinda não há avaliações
- Teste 06Documento7 páginasTeste 06Ana Teresa DiasAinda não há avaliações
- 8ºano - FICHA 5 e 6 - Atividades EconómicasDocumento2 páginas8ºano - FICHA 5 e 6 - Atividades Económicas_Dave_Strider_80% (10)
- Teste de Avaliação - Contrastes Ao Desenvolvimento Obstáculos Ao Desenvolvimento Localização Geográfica Climas Estruturas EtáriasDocumento7 páginasTeste de Avaliação - Contrastes Ao Desenvolvimento Obstáculos Ao Desenvolvimento Localização Geográfica Climas Estruturas Etárias_Dave_Strider_100% (5)
- Fichas Da Porto Editora Com Soluções FQ 9Documento13 páginasFichas Da Porto Editora Com Soluções FQ 9Andreia Santos69% (59)
- TESTE 1 - Introdução Revestimento e Forma Dos AnimaisDocumento6 páginasTESTE 1 - Introdução Revestimento e Forma Dos Animais_Dave_Strider_100% (2)
- 8ºano - FICHA 7 - Serviços e TurismoDocumento2 páginas8ºano - FICHA 7 - Serviços e Turismo_Dave_Strider_82% (17)
- 7ºano. FICHA 2 - COMO REPRESENTAR A TERRADocumento3 páginas7ºano. FICHA 2 - COMO REPRESENTAR A TERRA_Dave_Strider_50% (2)
- 8ºano - FICHA 3 - As Áreas de Fixação HumanaDocumento3 páginas8ºano - FICHA 3 - As Áreas de Fixação Humana_Dave_Strider_82% (22)
- CienTIC9 - Teste 1Documento6 páginasCienTIC9 - Teste 1Vania100% (1)
- Temas Sociais e Educacionais ContemporâneosDocumento180 páginasTemas Sociais e Educacionais ContemporâneosPerspectiva MerlinAinda não há avaliações
- 9º Ano ASA SoluçõesDocumento14 páginas9º Ano ASA SoluçõesManuel Oliveira44% (9)
- Exame de Equivalência À Frequência de Matemática (9º Ano)Documento28 páginasExame de Equivalência À Frequência de Matemática (9º Ano)_Dave_Strider_100% (1)
- 8ºano - FICHA 2 - Movimentos Populacionais e Diversidade CulturalDocumento2 páginas8ºano - FICHA 2 - Movimentos Populacionais e Diversidade Cultural_Dave_Strider_100% (8)
- Qualidade de Vida e Políticas Públicas: Saúde, Lazer e Atividade FísicaDocumento154 páginasQualidade de Vida e Políticas Públicas: Saúde, Lazer e Atividade FísicaPri PinheiroAinda não há avaliações
- Fazer Geografia 3 8Documento6 páginasFazer Geografia 3 8joanap20030% (3)
- Compreender o Corpo Humano9 - Ficha4Documento6 páginasCompreender o Corpo Humano9 - Ficha4Cleide Lopes100% (1)
- Localização Geografia - Ficha de TrabalhoDocumento3 páginasLocalização Geografia - Ficha de TrabalhoSara100% (1)
- 8ºano - FICHA 8 - Transportes e TelecomunicaçõesDocumento2 páginas8ºano - FICHA 8 - Transportes e Telecomunicações_Dave_Strider_79% (19)
- Teste Intermédio de Geografia 2010-2011Documento10 páginasTeste Intermédio de Geografia 2010-2011_Dave_Strider_Ainda não há avaliações
- DCRB EM 1a Versão Itinerário Formativo - Ciências Da NaturezaDocumento20 páginasDCRB EM 1a Versão Itinerário Formativo - Ciências Da NaturezaRafael MaxAinda não há avaliações
- Educação Ambiental 9Documento68 páginasEducação Ambiental 9Viviane PomboAinda não há avaliações
- Saude e Bem EstarDocumento7 páginasSaude e Bem EstarCleon SilvaAinda não há avaliações
- Linhas de Pesquisa Institucional - EmentaDocumento12 páginasLinhas de Pesquisa Institucional - Ementaleo.ferreiraAinda não há avaliações
- CNS - Agentes Da SaúdeDocumento6 páginasCNS - Agentes Da SaúdeHellen OliveiraAinda não há avaliações
- Relato de ExperiênciaDocumento8 páginasRelato de Experiênciadanielle fsserpaAinda não há avaliações
- BM PE Projeto Interdisciplinar IIIDocumento4 páginasBM PE Projeto Interdisciplinar IIIedusoares30Ainda não há avaliações
- Biomedicina Ementa Perfil Do Egresso e CompetênciasDocumento26 páginasBiomedicina Ementa Perfil Do Egresso e CompetênciasMikhael FerreiraAinda não há avaliações
- Saúde SustentabilidadeDocumento3 páginasSaúde SustentabilidadeClenio Nadia HornesAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Diversidade e Equidade Na Saúde PúblicaDocumento16 páginasTrabalho Sobre Diversidade e Equidade Na Saúde PúblicaFenias JustinoAinda não há avaliações
- Estrutura Do Pré-Projeto de Extensão - Direito Ambiental - Princípios Do Desenvolvimento Sustentável 101023Documento12 páginasEstrutura Do Pré-Projeto de Extensão - Direito Ambiental - Princípios Do Desenvolvimento Sustentável 10102323001088Ainda não há avaliações
- Trabalho de Metodologia Da Pesquisa (Completo)Documento9 páginasTrabalho de Metodologia Da Pesquisa (Completo)analuiza.rkAinda não há avaliações
- Curso de Agente de SaúdeDocumento94 páginasCurso de Agente de SaúdeDanyAinda não há avaliações
- 2º Ano - Eletiva Sociedade, Saúde e Meio AmbienteDocumento2 páginas2º Ano - Eletiva Sociedade, Saúde e Meio AmbienteJONATAN FERNANDES DO PRADOAinda não há avaliações
- Bioetica Unidade IIIDocumento12 páginasBioetica Unidade IIIFranciane Moreira de PaivaAinda não há avaliações
- Projeto de Extensao 1 - Gestao Hospitalar - Kimbilly Daniela NevesDocumento10 páginasProjeto de Extensao 1 - Gestao Hospitalar - Kimbilly Daniela NevesFAMILIA MACIELAinda não há avaliações
- Anteprojeto Simões Janice 29 Octo 2013Documento10 páginasAnteprojeto Simões Janice 29 Octo 2013Janice SimoesAinda não há avaliações
- PET V - 3ano GeografiaDocumento18 páginasPET V - 3ano GeografiaDayane SantosAinda não há avaliações
- 1 Aula Dia 09 de AgostoDocumento58 páginas1 Aula Dia 09 de AgostoLarissa FigueiraAinda não há avaliações
- FinalDocumento20 páginasFinalbeatrizAinda não há avaliações
- Atividade Integradora Direitos e Deveres - Sa+ - deDocumento10 páginasAtividade Integradora Direitos e Deveres - Sa+ - demoita07Ainda não há avaliações
- Ficha Formativa 1 - ST IvesDocumento2 páginasFicha Formativa 1 - ST Ives_Dave_Strider_100% (1)
- Prova Global de Geografia - 9º AnoDocumento4 páginasProva Global de Geografia - 9º Ano_Dave_Strider_100% (2)
- Teste Intermédio de Físico-Química 2010-2011 Critérios de CorreçãoDocumento8 páginasTeste Intermédio de Físico-Química 2010-2011 Critérios de Correção_Dave_Strider_100% (1)
- Teste Intermédio de Físico-Química 2010-2011 Caderno 1Documento8 páginasTeste Intermédio de Físico-Química 2010-2011 Caderno 1_Dave_Strider_100% (1)
- Critérios de Correção Do Teste Intermédio de Geografia de 2010-2011Documento5 páginasCritérios de Correção Do Teste Intermédio de Geografia de 2010-2011_Dave_Strider_Ainda não há avaliações
- Teste Tipo-Intermédio (v2)Documento8 páginasTeste Tipo-Intermédio (v2)_Dave_Strider_100% (1)
- Soluções Dos Testes-Tipo IntermédiosDocumento2 páginasSoluções Dos Testes-Tipo Intermédios_Dave_Strider_0% (1)
- Transtorno Da Personalidade EsquivaDocumento2 páginasTranstorno Da Personalidade EsquivaMiguel QuadrosAinda não há avaliações
- Tribulus Terrestris - Atividades Biológicas e Alterações Hormonais em HomensDocumento73 páginasTribulus Terrestris - Atividades Biológicas e Alterações Hormonais em HomensAndré NascimentoAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido Desenvolvimento InfantilDocumento5 páginasEstudo Dirigido Desenvolvimento InfantilJulya MariahAinda não há avaliações
- Butantan Guia PraticoDocumento49 páginasButantan Guia PraticoPaulo Barbosa AlvesAinda não há avaliações
- Aula 1Documento32 páginasAula 1Elcio Satti OicleAinda não há avaliações
- DDocumento115 páginasDjose silvaAinda não há avaliações
- Protosooses EmergentesDocumento10 páginasProtosooses EmergentesLauriane Queiroz FerreiraAinda não há avaliações
- Como Surgiu e Quais Os Benefícios Da Drenagem LinfáticaDocumento6 páginasComo Surgiu e Quais Os Benefícios Da Drenagem LinfáticaJaqueline Santos LimaAinda não há avaliações
- Raiva Humana e Atendimento Anti-Rabico Humano PDFDocumento4 páginasRaiva Humana e Atendimento Anti-Rabico Humano PDFwnonatooAinda não há avaliações
- Trabalho de Ética e BioéticaDocumento14 páginasTrabalho de Ética e BioéticaCarlos Augusto AraujoAinda não há avaliações
- Ebook - XIV Jornada Cientifica Do IESPES (Web)Documento318 páginasEbook - XIV Jornada Cientifica Do IESPES (Web)Angel Pena GalvãoAinda não há avaliações
- PROGORALDocumento36 páginasPROGORALapi-26429188Ainda não há avaliações
- BioCel - ExercíciosDocumento87 páginasBioCel - ExercíciosPaulo Henrique0% (1)
- UFCD 6557 - Rede Nacional de Cuidados de Saúde - Interculturalidade Na SaúdeDocumento31 páginasUFCD 6557 - Rede Nacional de Cuidados de Saúde - Interculturalidade Na Saúdecandeiasdasilva67% (3)
- Idade Óssea - Revisão de Literatura PDFDocumento5 páginasIdade Óssea - Revisão de Literatura PDFAnonymous UmxvWIqIuAinda não há avaliações
- Biologia Medicina PDFDocumento11 páginasBiologia Medicina PDFJuliana Bicalho100% (1)
- Analogia BileDocumento4 páginasAnalogia BileGilliarde GonçalvesAinda não há avaliações
- Anexo 2 Novo Cartilha Coleta - Escarro TelelabDocumento20 páginasAnexo 2 Novo Cartilha Coleta - Escarro TelelabThuany de MouraAinda não há avaliações
- Clonagem em EquinosDocumento7 páginasClonagem em EquinosThalita AraújoAinda não há avaliações
- Biotransformação de Fármacos Prof. MarcosDocumento98 páginasBiotransformação de Fármacos Prof. Marcosemillainesilva862Ainda não há avaliações
- A Relação Precoce e As Competências Do Recém-NascidoDocumento24 páginasA Relação Precoce e As Competências Do Recém-NascidoMaxim BaldéAinda não há avaliações
- Exercícios PeritoDocumento30 páginasExercícios PeritoWellingtonAinda não há avaliações
- 9656 Assistência de Enfermagem Ao Paciente Com Síndrome de Fournier..Documento1 página9656 Assistência de Enfermagem Ao Paciente Com Síndrome de Fournier..dayguterresAinda não há avaliações
- Def. MentalDocumento45 páginasDef. MentalMaria VenancioAinda não há avaliações
- Cartilha de Auto Cuidado de Coluna PDFDocumento9 páginasCartilha de Auto Cuidado de Coluna PDFezioflavioAinda não há avaliações