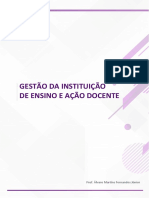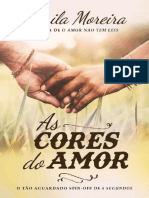Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 Pressupostos Teoricos PDF
1 Pressupostos Teoricos PDF
Enviado por
zenon_araujo5651Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1 Pressupostos Teoricos PDF
1 Pressupostos Teoricos PDF
Enviado por
zenon_araujo5651Direitos autorais:
Formatos disponíveis
CURRCULO EM MOVIMENTO
DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Governador do Distrito Federal
Agnelo Queiroz
Vice-Governador do Distrito Federal
Tadeu Filippelli
Secretrio de Estado de Educao
Marcelo Aguiar
Secretrio-Adjunto de Estado de Educao
Jacy Braga Rodrigues
Subsecretria de Educao Bsica
Edileuza Fernandes da Silva
Diretor da Escola de Aperfeioamento dos Profissionais da Educao
Francisco Jos da Silva
Colaboradores
Adriana Aparecida Barbosa Ramos Matos, Adriana Helena Teixeira, Adriana
Tosta Mendes, Aldeneide dos Santos Rocha, Alexandra Pereira da Silva,
Alexandre Viana Araujo da Silva, Aline de Menezes, lvaro Sebastio Teixeira
Ribeiro, Amanda Midri Amano, Ana Jos Marques, Ana Julia E. Heringer
Salles, Ana Lucia F. de Brito, Ana Maria de Lima Fagundes, Ana Paola Nunes
Oliveira Lima, Ana Paula Santos de Oliveira, Anderson de F. Matias, Andr
Lucio Bento, Andr Wangles de Arajo, Andrei Braga da Silva, Andria Costa
Tavares, Anna Izabel Costa Barbosa, Antnia Lima Cardoso, Antonio Carlos
de Sousa, Antnio Eustquio Ribeiro, Ari Luiz Alves Paes, Ariomar da Luz
Nogueira Filho, Arlene Alves Dutra, Avelina Pereira Neves, Carla Ramires
Lopes Cabaleira, Carlos Alberto Mateus da Silva, Carlos dos Santos Escrcio
Gomes, Carmen Silvia Batista, Cassia de Oliveira Hiragi, Ctia Cndido da
Silva, Ctia de Queiroz Domingues, Clia Aparecida Faria Almeida, Csar
Alexandre Carvalho, Ccero Lopes de Carvalho Neto, Clia Cardoso Rodrigues
da Silva, Cira Reis Araujo de Sousa, Claudia de Oliveira Souza, Cleide de Souza
M. Varella, Cleonice Martins dos Reis, Cristiane Alves de Assis, Cristiano de
Sousa Calisto, Daniel Ferraz, Daniel Policarpo S. Barbosa, Deborah Christina
de Mendona Oliveira, Deborah Moema Campos Ribeiro, Denise Formiga M.
de Castro, Denise Marra de Moraes, Dhara Cristiane de Souza Rodrigues,
Edileuza Fernandes da Silva, Edna Rodrigues Barroso, Edna Sanches, Edvan
Vieira das Virgens, Elaine Eloisa de Almeida Franco, Elayne Carvalho da Silva,
Elna Dias, Elson Queiroz de Oliveira Brito, Elzimar Evangelista, Emilia Helena
Brasileiro Souza Silva, Enilvia Rocha Morato Soares, rica Soares Martins
Queiroz, Erika Goulart Arajo, Erisevelton Silva Lima, Ester Shiraishi, Eudcia
Correia Moura, Eugnia Medeiros, Evandir Antonio Pettenon, Fani Costa de
Abreu, Francisca das Chagas A. Franco, Francisco Augusto Rodrigues de
Mattos, Francisco Celso Leito Freitas, Frederico dos Santos Viana, Geovane
Barbosa de Miranda, Gilda das Graas e Silva, Gilda Ferreira Costa, Gilmar de
Souza Ribeiro, Giovanna Amaral da Silveira, Gisele Lopes dos Santos, Gisele
Rocha do Nascimento, Gleidson Sousa Arruda, Goreth Aparecida P. da Silva,
Guilherme Pamplona Beltro Luna, Helen Matsunaga, Helenilda Maria Lagares,
Hlia Cristina Sousa Giannetti, Helio Francisco Mendes, Henrique Rodrigues
Torres, Hiram Santos Machado, Idelvania Oliveira, Ildete Batista do Carmo,
Ilma Maria Filizola Salmito, Iracema da Silva de Castro, Irair Paes Landin, Irani
Maria da Silva, Iris Almeida dos Santos, Isla Sousa Castellar, Ivanise dos Reis
Chagas, Jailson Soares Barbosa, James Oliveira Sousa, Jamile Baccoli Dantas,
Jane Leite dos Anjos, Janilene Lima da Cunha, Jaqueline Fernandes, Jardelia
Moreira dos Santos, Jeovany Machado dos Anjos, Joo Carlos Dias Ferreira,
Joo Felipe de Souza, Joaquim V. M. Barbosa, Jorge Alves Monteiro, Jose
Batista Castanheira de Melo, Jos Norberto Calixto, Jose Pereira Ribeiro, Jose
Wellington Santos Machado, Julia Cristina Coelho, Juliana Alves de Arajo
Bottechia, Juliana Ruas de Menezes, Jlio Csar Ferreira Campus, Ktia Franca
Vasconcellos, Ktia Leite Ramos, Larcio Queiroz da Silva, Latife Nemetala
Gomes, Laurice Aparecida Pereira da Silva, Leila DArc de Souza, Ldia Danielle
S. de Carvalho, Ligia da Silva Almeida Melo, Liliani Pires Garcia, Luclia de
Almeida Silva, Luciano da Silva Menezes, Lcio Flvio Barbosa, Lucy Mary
Antunes dos Santos, Luiz Carlos Pereira Marinho, Luzia Inacio Dias, Luzia
Oliveira do Nascimento, Maicon Lopes Mesquita, Maira I. T. Sousa, Manoel
Alves da Silva, Marcelo L. Bittencourt, Mrcia Andria B. Ramos, Mrcia de
Camargo Reis, Mrcia Forechi Crispim, Marcia Lucindo Lages, Mrcia Santos
Gonalves Coelho, Mrcio Antnio Sousa da Silva, Marcio Mello Nbrega
Soares, Marcio Melo Freitas, Marcos Antonio da Silva, Margarete Lopes dos
Santos, Maria Aparecida Sousa, Maria Cristina Dollabela, Maria da Glria da
Mota, Maria do Rosario Rocha Caxanga, Maria Goreth Andrade Dizer, Maria
Irene Barros, Maria Ireneuda de Souza Nogueira, Maria Juvanete Ferreira da
Cunha Pereira, Maria Luiza Dias Ramalho, Maria Rosane Soares Campelo,
Mario Bispo dos Santos, Mrio Srgio Ferrari, Marta Carvalho de Noronha
Pacheco, Matheus Ferreira, Maura da Aparecida Leles, Maxwendel Pereira
de Souza, Michelle Abreu Furtado, Milton Soares da Silva, Miriam Carmem
Magalhaes, Miranda, Moacir Natercio F. Jnior, Ndia Maria Rodrigues, Nair
Cristina da Silva Tuboiti, Natalia de Souza Duarte, Neide Rodrigues de Sousa,
Neide Silva Rafael Ferreira, Nelly Rose Nery Junquilho, Nilson Assuno de
Arajo, Nilson Couto Magalhaes, Nilva Maria, Pignata Curado, Norma Lcia
Neris de Queiros, Odaiza Cordeiro de Lima, Olga Freitas, Oraniel de Souza
Galvo, Pablo da Silva Sousa, Patrcia Liliande Castro Rodrigues, Patrcia
Carneiro Moura, Patricia Coelho Rodrigues, Patrcia Nunes de Kaiser, Paula
Miranda de Amaral, Paulo Cesar dos Anjos, Paulo Cesar Rocha Ribeiro, Paulo
Henrique Ferreira da Silva, Paulo Ricardo Menezes, Pedro Alves Lopes, Pedro
Anacio Camarano, Pedro de O. Silva, Plnio Jos Leite de Andrade, Porfirio
Magalhes Sousa, Priscila Poliane de S. Faleirom, Rachel Anglica de Andrade
Cota, Rafael Batista de Sousa, Rafael Dantas de Carvalho, Rafael Urzedo
Pinto, Raimundo Reivaldo de Paiva Dutra, Raniere R. Silva de Aguiar, Raquel
Vila Nova Lins, Raquel Caixeta da Silva, Regeane Matos Nascimento, Regina
Aparecida Reis Baldini de Figueiredo, Regina Lcia Pereira Delgado, Reinaldo
Vicentini Jnior, Rejane Oliveira dos Santos, Remsia F T de Aguiar, Renata
Alves Saraiva de Lima, Renata Callaa Gadioli dos Santos, Renata Nogueira
da Silva, Renata Parreira Peixoto, Renato Domingos Bertolino, Rinaldo Alves
Almeida, Rober Carlos Barbosa Duarte, Roberto de Lima, Robison Luiz Alves
de Lima, Roger Pena de Lima, Roslia Policarpo Fagundes de Carvalho,
Rosana Csar de Arruda Fernandes, Rosangela Delphino, Rosangela Toledo
Patay, Rosemberg Holz, Samuel Wvilde Dionisio de Moraes, Sara dos Santos
Correia, Srgia Mara Bezerra, Sergio Bemfica da Silva, Srgio Luiz Antunes
Neto Carreira, Shirley Vasconcelos Piedade, Snia Ferreira de Oliveira, Surama
Aparecida de Melo Castro, Susana Moreia Lima, Tadeu Maia, Tania Cristina
Ribeiro de Vasconcelos, Tadeu Queiroz Maia, Tania Lagares de Moraes, Telma
Litwinuzik, Urnia Flores, Valeria Lopes Barbosa, Vanda Afonso Barbosa
Ribeiro, Vanessa Ribeiro Soares,Vanessa Terezinha Alves Tentes de Ourofino,
Vania Elisabeth Andrino Bacellar, Vnia Lcia C. A. Souza, Vasco Ferreira,
Verinez Carlota Ferreira, Veronica Antonia de Oliveira Rufino, Vinicius Ricardo
de Souza Lima, Viviany Lucas Pinheiro, Wagner de Faria Santana, Wando
Olmpio de Souza, Wanessa de Castro, Washington Luiz S Carvalho, Wdina
Maria Barreto Pereira, Welington Barbosa Sampaio, Wellington Tito de Souza
Dutra, Wilian Grato.
Colaboradores Institucionais
Antonio Ahmad Yusuf Dames, Eter Cristina Silva Balestie Peluffo (CRE
Taguatinga), Celsa Judithe Pacheco Rosa, Vera Lucia Soares Souza (CRE
SOBRADINHO), Edilene Maria Muniz de Abreu Nogueira, Paula Soares
Marques Ziller (CRE So Sebastio), Francinia F. Gomes Soares, Bento
Alves dos Reis (CRE Planaltina), Gedilene Lustosa Gomes de Almeida, Marla
Cristina de Leles (CRE Ncleo Bandeirante), Jeferson Paz das Neves, Edneide
Amrico Vieira (CRE Plano Piloto/Cruzeiro), Jos Antonio Gomes Coelho,
Maura da Aparecida Leles (CRE Gama), Mrcia Gilda Moreira Cosme, Ivani
Carvalho da Silva (CRE Brazlndia), Nelson Moreira Sobrinho, Valdenice de
Oliveira (CRE Ceilndia), Ricardo Gonalves Pacheco, Marlia Teixeira (CRE
Parano), Sebastio Milhomens, Evandir Antnio Pettenon Bastos da Silva
(CRE Santa Maria), Selassie das Virgens Junior, Alessandra Nbia Cordeiro
(CRE Guar), Terezinha Barbosa Farias Vieira, Beatriz Leite Goulart (CRE
Samambaia), Vanessa Arruda Stecanella, Rosimeire da Silva e Oliveira (CRE
Recanto das Emas).
Coordenadora da fase inicial de elaborao do currculo
Sandra Zita Silva Tin
Reviso de contedo
Edileuza Fernandes da Silva
Erisevelton Silva Lima
Diagramao
Eduardo Silva Ferreira
Filipe Jonathan Santos de Carvalho
Capa
Eduardo Silva Ferreira
Thiago Luiz Ferreira Lima
Layout dos cadernos
Mrcia Castilho de Sales
SUMRIO
APRESENTAO ----------------------------------------------------------
1. PROCESSO DE CONSTRUO DO CURRCULO ---------------------------
2. PRESSUPOSTOS TERICOS DO CURRCULO -----------------------------
2.1 TEORIA CRTICA E PS-CRTICA ----------------------------------
2.2 CONCEPO DE EDUCAO INTEGRAL: AMPLIAO DE TEMPOS,
ESPAOS E OPORTUNIDADES ------------------------------------------
2.2.1 PRINCPIOS DA EDUCAO INTEGRAL --------------------------
2.3 PEDAGOGIA HISTRICO-CRTICA E PSICOLOGIA HISTRICO-
CULTURAL: BASE TERICO-METODOLGICA ----------------------------
2.4 EIXOS TRANSVERSAIS ----------------------------------------------
2.4.1 Educao para a Diversidade ------------------------------------
Educao no Campo no DF: modalidade de educao bsica em
construo ----------------------------------------------------------
Pressupostos Tericos da Educao do Campo -----------------------
Educao do Campo na prtica -------------------------------------
2.4.2 Cidadania e Educao em e para os Direitos Humanos ------------
A educao em e para os Direitos Humanos: concepo e marcos legais
Os direitos humanos na prtica escolar ------------------------------
Direitos humanos, escola e desafios ---------------------------------
Linhas de atuao da Educao em Direitos Humanos ----------------
2.4.3 Educao para a Sustentabilidade -------------------------------
3. CURRCULO INTEGRADO -----------------------------------------------
3.1 PRINCPIOS EPISTEMOLGICOS --------------------------------------
4. AVALIAO PARA AS APRENDIZAGENS: CONCEPO FORMATIVA -----
ALGUMAS CONSIDERAES ----------------------------------------------
REFERNCIAS -------------------------------------------------------------
10
17
21
21
23
28
30
36
37
43
45
49
50
54
56
57
57
59
65
66
71
75
80
10
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
APRESENTAO
O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de
Educao (SEEDF), reafirma seu compromisso com a educao pblica de
qualidade para a populao do DF, compreendendo a Educao Bsica como
[...] direito indispensvel para o exerccio da cidadania em plenitude, da qual
depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos, definidos na
Constituio Federal, no Estatuto da Criana e do Adolescente (ECA), na
legislao ordinria e nas demais disposies que consagram as prerrogativas
do cidado (DCNEB, 2010, p. 2). Ao apresentar o Currculo em Movimento
para a Educao Bsica, a SEEDF empenha-se para garantir no apenas o
acesso de todos e todas educao bsica, mas, sobretudo, a permanncia
com qualidade referenciada nos sujeitos sociais, em conformidade com os
preceitos constitucionais e a Lei 4.751/2012, de Gesto Democrtica do
Sistema de Ensino Pblico do DF.
Este um Currculo de Educao Integral que objetiva ampliar tempos,
espaos e oportunidades educacionais. Falar de Educao Integral, nos
remete epgrafe de Paulo Freire: a escola feita de gente, de eu e de
ns. No se trata apenas de espao fsico, de salas de aula, de quadras,
refeitrios ou sequer de seu contedo. A escola um lugar de instruo
e socializao, de expectativas e contradies, de chegadas e partidas, de
encontros e desencontros, ou seja, um ambiente onde as diversas dimenses
humanas se revelam e so reveladas.
Nessa perspectiva, o ser em formao multidimensional, com
identidade, histria, desejos, necessidades, sonhos, isto , um ser nico,
especial e singular, na inteireza de sua essncia, na inefvel complexidade
de sua presena. E a educao uma prtica social, que une os homens
entre si em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A
escola, instituio formal de educao, muitas vezes o equipamento pblico
mais prximo da comunidade, chamada a desempenhar intensivamente
um conjunto de funes. Essa instituio se v como educadora, mas
tambm como protetora e isso tem provocado debates acerca no s de
sua especificidade, mas tambm dos novos atores sociais que buscam apoi-
la no exerccio dessas novas funes e dos movimentos e organizaes que
igualmente buscam a companhia dessa instituio escolar para constitu-la
e, talvez, ressignific-la.
Para implementar este Currculo Integrado, de Educao Integral
imprescindvel a superao das concepes de currculo escolar como
prescrio de contedos, desconsiderando saberes e fazeres constitudos e
11
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
em constituio pelos sujeitos em seus espaos de vida. Este currculo abre
espao para grandes temticas de interesse social que produzem convergncia
de diferentes reas do conhecimento como: sustentabilidade ambiental,
direitos humanos, respeito, valorizao das diferenas e complexidade
das relaes entre escola e sociedade. Os contedos cientficos devem se
organizar em torno de uma determinada ideia ou de eixos, que estruturam
o trabalho pedaggico a ser desenvolvido por professores(as) e estudantes
nos tempos e espaos escolares em todas as etapas e modalidades de ensino
articulados aos projetos poltico-pedaggicos das escolas (BRASIL, 2009b).
Dessa forma, esses temas devem permear todas as atividades
docentes, independente das disciplinas/componentes curriculares, todos os
professores e professoras devem ter os eixos como referncias no tratamento
dos contedos cientficos.
A adoo da concepo de Educao Integral se d na visibilidade
social a grupos e segmentos sociais, cooperando para a mobilidade social
e a garantia de direitos, contemplando as diversas dimenses da formao
humana, no comprometimento de diferentes atores sociais com o direito de
aprender, reconhecendo os(as) estudantes como sujeitos de direitos e deveres
e na busca da garantia do acesso e da permanncia dos(as) estudantes com
sucesso.
Ao valorizar o ser humano multidimensional e os direitos coletivos,
a Educao Integral provoca uma ruptura estrutural na lgica de poder
punitivo e fortalece a responsabilizao com a Educao para a Diversidade,
Cidadania e Educao em e para os Direitos Humanos e Educao para a
Sustentabilidade. Colabora para a formao de um ser menos consumista,
mais tico consigo mesmo, solidrio com o prximo e integrado com a
natureza que o circunda.
A Educao Integral, fundamento deste Currculo, tem como princpios:
integralidade, intersetorizao, transversalidade, dilogo escola-comunidade,
territorialidade, trabalho em rede e convivncia escolar negociada, o que
possibilita a ampliao de oportunidades s crianas, jovens e adultos e,
consequentemente, o fortalecimento da participao cidad no processo de
concretizao de fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo
Currculo de Educao Bsica.
Ao focalizar as aprendizagens como estruturante deste Currculo, a
SEEDF ratifica a funo precpua da escola de oportunizar a todos(as) os(as)
estudantes, indistintamente, o direito de aprender. Para isso, a organizao
do trabalho pedaggico proposta pelas escolas e inserida em seus projetos
poltico-pedaggicos, deve contribuir para colocar as crianas, jovens e adultos
12
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
em situaes que favoream as aprendizagens. Garantir aos(s) estudantes o
direito s aprendizagens implica um investimento sustentado nos princpios
da tica e da responsabilidade, que incide tambm na formao de uma
sociedade mais justa e mais desenvolvida nos aspectos sociais, culturais
e econmicos. Alm disso, direciona para um fazer didtico e pedaggico
ousado, no qual o(a) professor(a) parte do princpio de que h igualdade
intelectiva entre os sujeitos.
Cabe ressaltar que pensar a aprendizagem perpassa por compreender
o(a) estudante como um sujeito complexo, que constri hipteses e que,
para ir ao encontro de seu pensamento, importa acolh-lo, para trazer
situaes didticas e pedaggicas de interveno contribuindo no sentido
de que repense o prprio pensamento nem a mais, nem a menos daquilo
de que capaz (VIGOTSKY, 2001). Um trabalho com esse direcionamento
instaura a possibilidade de um compromisso articulado com todos os sujeitos
envolvidos, alm de gerar cumplicidade e envolvimento na conquista da
produo desses saberes. Portanto, pautados nessa lgica e na busca por
favorecer a interdisciplinaridade, a prtica da contextualizao e do que
significativo, possvel ir ao encontro do processo e da construo de novas
aprendizagens.
Este um Currculo que considera as diferentes formas de organizao
da educao bsica, conforme orienta o artigo 23 da LDB. No DF, alm da
seriao, os ciclos e a semestralidade so organizaes escolares propostas
como polticas que buscam garantir as aprendizagens dos(as) estudantes,
num processo de incluso educacional. Para garantir a unidade curricular,
os eixos transversais apresentados neste Currculo - Educao para a
Diversidade, Cidadania e Educao em e para os Direitos Humanos e
Educao para a Sustentabilidade, bem como os contedos e os processos
de avaliao educacional em seus trs nveis: aprendizagem, institucional e
de sistema, so os mesmos para todas as escolas, independentemente da
forma de organizao escolar pela qual optarem. Mudam-se os tempos e
espaos escolares, as abordagens e os enfoques que devem sempre estar a
servio das aprendizagens de todos(as) e para todos(as) em articulao com
os projetos poltico-pedaggicos.
O tempo escolar uma categoria fundamental na organizao do
trabalho pedaggico com nfase na permanncia com sucesso escolar
dos(as) estudantes. A gesto do tempo pelo(o) professor(a) deve ter como
foco o tempo de aprendizagem, que contempla trs variveis distintas e
mensurveis: o tempo concedido relacionado quantidade de tempo de
ensino destinado ao trabalho dos(as) estudantes e para a realizao de tarefas
13
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
escolares, normalmente definidos pelos(as) professores(as), gestores(as) e
calendrios escolares; o tempo de empenho, relacionado ao perodo em
que os(as) estudantes ficam atentos s aulas e atividades com vistas ao
alcance dos objetivos de aprendizagem. H ainda o grau de dificuldade que
a aprendizagem representa para os(as) estudantes, que se relaciona ao que
se espera deles na realizao das atividades (GAUTHIER, 1998).
No Distrito Federal vivenciamos diferentes tempos escolares, conexos
jornada de atendimento direto e dirio aos(s) estudantes: de trs horas na
dcada de 1980 e incio da dcada de 1990; de quatro horas at a conquista
da ampliao para cinco horas dirias, em meados da dcada de 1990. Na
escola encontramos ainda a dimenso de tempo expressa na organizao do
trabalho pedaggico: tempo para a recreao, tempo para a leitura, tempo
para a alimentao escolar. Tempo fragmentado, determinado que, ao ser
definido em termos quantitativos, interfere na organizao do processo
didtico em que se desenvolvem aes, meios e condies para a realizao
da formao, do desenvolvimento e do domnio dos conhecimentos pelos(as)
estudantes (SILVA, 2011).
Atualmente, tambm convivemos com diferentes tempos: quatro
horas para a Educao Profissional e Educao de Jovens e Adultos; cinco
horas para a Educao Infantil, Ensino Fundamental e Mdio na maioria das
escolas da Rede; sete a dez horas em unidades escolares contempladas com
o Programa de Educao Integral (PROEITI). Essa diversidade de tempos
se justifica em funo da diversidade dos(as) estudantes da rede pblica
de ensino do DF e dos projetos/programas educacionais que, ao invs de
padronizar a oferta da educao bsica, se orientam em atendimento s
necessidades formativas e ampliao das oportunidades.
A democratizao do acesso educao pblica para as camadas
populares da sociedade tem exigido ousadia dos governos, gestores e
profissionais da educao para reinventar a escola de primeiras letras,
criada no sculo XVIII, com o objetivo de generalizar os rudimentos do saber
- ler, escrever e contar - e superar o modelo privilegiado na educao do
sculo XIX, que instituiu os grupos escolares e as escolas seriadas.
Os(as) estudantes que frequentam nossas escolas e salas de aula
hoje so muito diferentes dos(as) estudantes de pocas anteriores por
apresentarem saberes, experincias e interesses muitas vezes distantes
do que a escola na sociedade atual privilegia em seus currculos. Esse(s)
novo(a) estudante requer outra escola, outro profissional, outra relao
tempo-espao escolar. A no observncia desses elementos pode estar
na gnese de resultados dos desempenhos escolares dos(as) estudantes,
14
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
expressos pelos altos ndices de reprovao, evaso e abandono escolar de
uma parcela significativa da populao que escola teve acesso, mas que
nela no permanece. Ou, quando permanece, no obtm o xito desejado,
tornando-se os excludos do interior (BOURDIEU, 1998), alunos que reagem
de forma ostensiva, dando sinais de provocao e resistncia em relao
aos(s) professores(as), aos(s) gestores(as) e organizao escolar que no
atende mais a esse novo perfil de estudante.
Diante desse cenrio, no d para ficar inerte, possibilidades precisam
ser oferecidas, mesmo que sejam respostas ainda em elaborao a
fenmenos complexos. Nesse sentido, a SEEDF, respaldada pelo artigo 23
da LDB 9.394/96, apresenta outras possibilidades de organizao do tempo-
espao escolares - os ciclos para o Ensino Fundamental e a semestralidade
para o Ensino Mdio.
So alternativas organizao escolar seriada que podem atenuar
a descontinuidade e fragmentao dos processos formativos, ao garantir
um tempo maior de aprendizagens para os(as) estudantes e desenvolver a
educao para a diversidade, para os direitos humanos, para a cidadania,
para a sustentabilidade, eixos transversais deste Currculo.
Os Ciclos para as Aprendizagens estruturam-se por meio da gesto
democrtica, da formao continuada dos(as) profissionais da educao,
da reorganizao dos espaos-tempos para o direito de todos(as) os(as)
estudantes de aprender, do fortalecimento de espaos da coordenao
pedaggica e do conselho de classe, da articulao entre os trs nveis da
avaliao: aprendizagem (avaliao do desempenho dos(as) estudantes
pelos(as) professores(as) ), institucional (avaliao do trabalho pedaggico) e
de larga escala (avaliao externa).
J a semestralidade prope a reorganizao de tempos-espaos
escolares, visando superar a forma como tm sido concebidos e trabalhados
os conhecimentos ao longo do tempo, ou seja, em uma dimenso
quantitativa, fragmentada e linear. Na escola de Ensino Mdio, encontra-
se a dimenso de tempo expressa na organizao da rotina de tempos de
aulas, intervalos e alimentao. A perspectiva favorecer e fortalecer as
aprendizagens dos(as) estudantes no Ensino Mdio de forma a consolidar
e aprofundar conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, alm de
proporcionar a apropriao de novos conhecimentos e desenvolver o senso
crtico e a autonomia intelectual que favoream a continuidade dos estudos.
Para esta organizao, os componentes curriculares do Ensino Mdio
e suas cargas horrias, previstas nas Diretrizes Pedaggicas (SEEDF, 2008),
os componentes curriculares foram divididos em dois blocos, que devem ser
15
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
ofertados de forma concomitante nas escolas, isto , ao mesmo tempo e no
mesmo semestre.
Merece destaque o fato de que muitas escolas organizadas em sries
tenham construdo projetos poltico-pedaggicos que sinalizam rupturas
com processos conservadores de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar,
reorganizando o trabalho pedaggico com qualidade e compromisso com as
aprendizagens de todos(as) os(as) estudantes. Entretanto, alertamos sobre
as lgicas que os ciclos e a semestralidade propem em relao seriao
tradicional. No cerne da questo, est o problema da no aprendizagem,
que tem longa data em nosso sistema de ensino. Se a reprovao no
se mostrou como o procedimento mais adequado para garantir o direito
educao a todos e todas, tampouco os programas de correo de fluxo e
acelerao mostraram-se eficazes.
Assim, no podemos ignorar o fato de que nossa histria de reprovao
e evaso bem mais longa que a dos ciclos de progresso continuada. Se
existem provas consistentes e cientficas para que coloquemos em questo
o modelo seriado, ainda no podemos dizer que o mesmo ocorra com a
organizao em ciclos, que ainda tem um percurso recente na histria da
educao brasileira.
A perspectiva com a implantao deste Currculo do fortalecimento
da escola pblica e da construo de uma educao de qualidade referenciada
nos sujeitos sociais, que [...] possibilita o encontro dos sujeitos histricos
e que faz da escola arena de aprendizado poltico e pedaggico (ARAJO,
2012, p. 231). No sentido poltico, a escola d visibilidade, vez e voz a seus
sujeitos para que interfiram no destino da educao. No sentido pedaggico,
as aprendizagens acontecem num processo contnuo por meio das mltiplas
relaes sociais estabelecidas. Nessa perspectiva, a aprendizagem [...]
transcende o ambiente da sala de aula e faz da escola uma arena de saberes
e de reflexo permanente para que todos os sujeitos possam se apropriar da
cultura, dialogar, interagir com os diferentes, enfim, ganhar visibilidade e se
fazer valer como cidados na esfera pblica (idem, 231).
Comprometida com a construo de uma escola pblica de qualidade,
a Secretaria de Estado de Educao do Distrito Federal apresenta o Currculo
de Educao Bsica da SEEDF, para implementao a partir de 2014 em toda
a Rede, recuperando as especificidades do campo do currculo para alm
do que pode ser restrito ao ensino. O Currculo organizado num conjunto
composto por 08 (oito) Cadernos: Pressupostos Tericos; Educao Infantil;
Ensino Fundamental Anos Iniciais; Ensino Fundamental Anos Finais;
Ensino Mdio; Educao Profissional e EAD; Educao de Jovens e Adultos
16
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
e Educao Especial.
A concretizao deste Currculo se dar a partir dos projetos poltico-
pedaggicos das escolas, como expresso de sua intencionalidade. Projeto
que deve ser construdo de forma participativa e democrtica, envolvendo
todos os sujeitos que fazem a educao acontecer nas escolas pblicas do
DF, na perspectiva de que [...] pensar a democracia passa, necessariamente,
pela reflexo sobre a cultura de cada sociedade e a forma como os indivduos
estabelecem relaes com os espaos pblicos (COSTA, 2010, p. 86). O que
se espera que o projeto poltico-pedaggico seja fruto de profunda reflexo
sobre as finalidades da escola e da explicitao de seu papel social. Um
projeto como documento de identidade, que reflita a realidade escolar e suas
relaes internas e externas e que possibilite uma educao integral, pblica,
democrtica e de qualidade social para nossos(as) estudantes.
Acreditando na escola pblica como possibilidade, a SEEDF convida os
sujeitos sociais a darem vida a este instrumento no cho da escola e da sala
de aula, colocando seus princpios, concepes e orientaes em prtica.
na ao que o Currculo ganha vida, no cotidiano da escola e da sala de aula,
por meio da relao pedaggica professor(a) e estudante, mediada pelo
conhecimento e firmando parcerias com outros profissionais e comunidade
escolar.
17
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
1. PROCESSO DE CONSTRUO DO CURRCULO
Currculo est centralmente envolvido naquilo que
somos, naquilo que nos tornamos e naquilo que nos
tornaremos. O currculo produz, o currculo nos produz.
(SILVA, 2003)
Desde o incio do atual milnio, algumas reformas curriculares tm
sido feitas na rede pblica de ensino do Distrito Federal (2000, 2002, 2008,
2010) com variaes conceituais, de contedos, procedimentos e tempos-
espaos pedaggicos. Essa construo foi considerada na reformulao que
culminou neste Currculo que ora apresentamos. Cabe salientar que esta
sistematizao no ignora, negligencia ou desqualifica a trajetria de outras
iniciativas que construram e constroem nossa histria curricular no DF.
Este Currculo evidencia uma saudvel e natural atualizao histrico-
cultural
1
do currculo, prpria dos que educam e dos que so educados,
educando-se mutuamente, especialmente para que se alinhe com as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educao Bsica e com as demais
Diretrizes Curriculares Nacionais que orientam etapas e modalidades desse
nvel de ensino.
Assim, traz a pblico o movimento de uma rede que, ao receber um
Currculo de carter experimental em dezembro de 2010, estava ciente de
que este seria objeto de estudo, avaliao e mudana. Novas propostas e
vises sobre o cotidiano da Educao Bsica convidam-nos a rever o trabalho
junto s crianas, jovens, adultos, profissionais da educao e comunidade
escolar em geral.
Para que o Currculo da Educao Bsica seja de fato um documento de
identidade (SILVA, 2003) que oriente as escolas pblicas do Distrito Federal,
a Secretaria de Estado de Educao iniciou, em 2011, um movimento coletivo
que envolveu professores(as), estudantes, coordenadores(as) pedaggicos,
gestores dos nveis local, intermedirio e central para discutir o Currculo,
apresentado no ano de 2010, de carter experimental, e props uma nova
estruturao terica e metodolgica desse importante instrumento entendido
como campo poltico-pedaggico construdo nas relaes entre os sujeitos,
conhecimentos e realidades. Nesse processo dinmico e dialtico, novos
saberes e experincias so considerados na relao com os conhecimentos
produzidos pelas cincias, sendo educandos e educadores protagonistas na
elaborao, desenvolvimento e avaliao dos processos de ensinar, aprender,
1 - Expresso da autoria do professor da USP Vitor Henrique Paro.
18
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
pesquisar e avaliar na educao bsica, tendo o Currculo como referncia.
Em relao s aes coletivas da rede pblica para avaliao e
reformulao do currculo, apresentamos a dinmica empreendida:
A discusso teve incio no primeiro semestre de 2011 com a avaliao
diagnstica da verso experimental do Currculo entregue no ano de 2010. Os
espaos de coordenao pedaggica coletiva das escolas foram planejados
para estudos e avaliao com a identificao de potencialidades, fragilidades
e sugestes para melhoria do Documento.
Em 2011, a realizao de plenrias sobre Currculo
2
, as discusses
dos Grupos de Trabalho do Currculo, as sugestes e os estudos feitos
pela parceria entre as Coordenaes Regionais de Ensino (CRE)
3
e as
instituies educacionais, tendo como base os documentos norteadores
do debate advindos da Subsecretaria de Educao Bsica (SUBEB). Cada
plenria regional reuniu profissionais de educao de duas Regionais de
Ensino. Nas plenrias, profissionais da educao foram ouvidos a respeito
de suas representaes acerca de currculo e sua articulao ou no com
as concepes historicamente constitudas no espao escolar, e sobre como
essas concepes implicam opes didticas, metodolgicas e avaliativas
praticadas nas salas de aula e na escola.
Em 2012, a continuidade das discusses com os Grupos de Trabalho e
a elaborao de uma minuta, organizada por cadernos, denominada Currculo
em Movimento, submetida s escolas para validao no ano letivo de 2013.
Os grupos de trabalho tiveram o importante papel de analisar e sistematizar
as contribuies dos profissionais da educao feitas em plenrias regionais e
materializadas no documento disponibilizado na Rede, no incio do ano letivo
de 2013.
Em 2013, o processo de validao do Currculo em Movimento
nas CREs e nas unidades escolares da rede pblica se deu por meio de
formao nas prprias escolas (EAPE nas Escolas) e de plenrias regionais
que produziram materiais encaminhados SUBEB para sistematizao.
A escuta foi ampliada quando, nos espaos de formao diversos, como
coordenaes pedaggicas, cursos oferecidos pela Escola de Aperfeioamento
dos Profissionais da Educao (EAPE), fruns permanentes de discusso
curricular, tivemos oportunidade de acompanhar e avaliar o Currculo na
ao, quando ganha vida e significado nas e pelas prticas pedaggicas dos
protagonistas do processo educativo, professores(as) e estudantes, mediados
pelos conhecimentos.
2 - As sete plenrias ocorreram no segundo semestre de 2011, com a participao dos segmentos profissionais e posterior
sistematizao dos debates.
3 - As CRE, antes da Reestruturao da SEDF de 2011, eram chamadas de Diretorias Regionais de Ensino.
19
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Ainda em 2013, a reelaborao do texto pela SUBEB, a partir
das contribuies advindas das instituies educacionais e das CREs,
materializadas no Currculo da Educao Bsica.
Na perspectiva de Currculo em movimento, precisamos estar
dispostos a questionar nossos saberes e nossas prticas pedaggicas; a
discutir a funo social da escola e o aligeiramento dos saberes; a romper
com a concepo conservadora de cincia e currculo e de fragmentao
do conhecimento; a reinventar-nos, compreendendo que a educao
construo coletiva.
O processo de elaborao coletiva da proposta curricular, vivenciado
nos ltimos anos, explicita o projeto poltico-pedaggico da escola que
almejamos para o Distrito Federal. Numa viso dinmica, admitindo
o Currculo como um instrumento que se realiza em diferentes mbitos
de decises e realizaes, ganha vida no processo de implantao e se
materializa no processo de concepo, desenvolvimento e expresso de
prticas pedaggicas e em sua avaliao, cujo valor para os(as) estudantes
depende dos processos de transformao por eles vivenciados (SACRISTN,
2000).
A expectativa de que os espaos democrticos de formao e
participao da escola favoream a implementao deste Currculo, a tomada
de decises coletivas em seu interior e decises individuais, em situaes
especficas, como as vivenciadas pelos(as) professores(as) e estudantes em
sala de aula. Que favoream a reflexo em torno das questes: Para que
ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar?
Ao discutir concepes, prioridades, aes, metodologia e formas
de operacionalizao do fazer escolar, em consonncia com os princpios
do projeto educacional do sistema pblico de ensino do DF e das polticas
pblicas nacionais, cada unidade escolar elaborar suas propostas curriculares,
transcendendo a mera definio de datas comemorativas, o currculo
turstico que se organiza em eventos e festividades, como dia das mes,
dos pais, do ndio, da pscoa, do folclore, entre outros.
A expectativa que haja uma confluncia de prticas e agentes, criando
em torno de si campos de ao diversos, abrindo a possibilidade para
que mltiplos sujeitos, instncias e contextos se manifestem e contribuam
para sua transformao. Nesse processo, as decises no so lineares,
consensuais, objetivas. Os nveis nos quais se discute, elabora e efetiva o
Currculo, como nvel central (Subsecretarias e Coordenaes), intermedirio
(Coordenaes Regionais e Gerncias Regionais) e local (Escolas), convivem
com as situaes geradoras de conflitos e abrem possibilidades de mudanas
20
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
nas prprias contradies. Entretanto, essas contradies no podem impedir
a definio discutida e consciente de conhecimentos, concepes e prticas
pedaggicas que considerem a diversidade dos sujeitos em formao,
os objetivos de cada ciclo, etapa e modalidade da educao bsica e as
especificidades locais e regionais de cada Cidade, Coordenao Regional/
Escola.
A implementao deste Currculo requer a constituio de espaos/
tempos abertos de discusso e construo na perspectiva da gesto
democrtica do sistema pblico de ensino do Distrito Federal (Lei 4.751/2012),
envolvendo gestores, professores, estudantes, pais, mes, responsveis,
organizaes sociais, universidades, para que no se transforme em
reproduo de decises superiores e enquadramentos implcitos.
Ao apresentar este Currculo em movimento, ns o fazemos
conscientes de que um documento a ser permanentemente avaliado e
significado a partir de concepes e prticas empreendidas por cada um e
cada uma no contexto concreto das escolas e das salas de aula desta rede
pblica de ensino.
21
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
2. PRESSUPOSTOS TERICOS DO CURRICULO
2.1 Teoria crtica e ps-crtica
Historicamente, o conceito de currculo expressa ideias como conjunto
de disciplinas/matrias, relao de atividades a serem desenvolvidas pela
escola, resultados pretendidos de aprendizagem, relao de contedos
claramente delimitados e separados entre si, com perodos de tempo
rigidamente fixados e contedos selecionados para satisfazer alguns critrios
avaliativos. Nessas representaes, os programas escolares e o trabalho
escolar como um todo so tratados sem amplitude, desprovidos de significados
e as questes relacionadas funo social da escola so deixadas em plano
secundrio, transformando o currculo num objeto que esgota em si mesmo,
como algo dado e no como um processo de construo social no qual se
possa intervir.
O resgate desses conceitos se justifica pelo esforo da Secretaria de
Estado de Educao do Distrito Federal (SEEDF) em conceber e implementar
o currculo signatrio da concepo de educao integral e de criar por meio
da educao condies para que as crianas, jovens e adultos se humanizem,
apropriando-se da cultura, produto do desenvolvimento histrico humano.
Esta Secretaria prope o currculo como um instrumento aberto em que
os conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovao
e a utilizao de recursos e prticas pedaggicas mais criativas, flexveis e
humanizadas.
A elaborao deste Currculo envolveu escolhas diversas, sendo a
opo terica fundante para a identificao do projeto de educao que se
prope, do cidado que se pretende formar, da sociedade que se almeja
construir. Por que optar por teorias de currculo? Porque definem a
intencionalidade poltica e formativa, expressam concepes pedaggicas,
assumem uma proposta de interveno refletida e fundamentada, orientada
para a organizao das prticas da e na escola.
Ao considerar a relevncia da opo terica, a SEEDF elaborou seu
Currculo a partir de alguns pressupostos da Teoria Crtica ao questionar o que
pode parecer natural na sociedade, como: desigualdades sociais, hegemonia
do conhecimento cientfico em relao a outras formas de conhecimento,
neutralidade do currculo e dos conhecimentos, busca de uma racionalidade
emancipatria para fugir da racionalidade instrumental, procura de um
compromisso tico que liga valores universais a processos de transformao
social (PUCCI, 1995; SILVA, 2003).
22
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Para promover as conexes entre currculo e multiculturalismo, sem
desconsiderar as relaes de poder que esto na base da produo das
diferenas, alguns pressupostos da Teoria Ps-Crtica tambm fundamentam
este Documento. Ao abrir espao no apenas para ensinar a tolerncia
e o respeito, mas, sobretudo, para provocar anlises [...] dos processos
pelos quais as diferenas so produzidas atravs de relaes de assimetria
e desigualdade (SILVA, 2003, p. 89), questionando permanentemente
essas diferenas, so propostos como eixos transversais: educao para a
diversidade, educao para a cidadania, educao para a sustentabilidade e
educao para e em direitos humanos.
Na perspectiva da Teoria Crtica, so considerados na organizao
curricular conceitos, como: ideologia, reproduo cultural e social, poder,
classe social, capitalismo, relaes sociais de produo, conscientizao,
emancipao e libertao, currculo oculto, resistncia. A inteno de que
o Currculo se converta em possibilidade de emancipao pelo conhecimento,
seja ideologicamente situado e considere as relaes de poder existentes nos
mltiplos espaos sociais e educacionais, especialmente nos espaos em que
h interesses de classes.
A discusso coletiva em torno do Currculo
4
mostrou que este
realmente um campo de disputa, de relaes de poder, de tenses e conflitos,
de defesa de interesses diversos, s vezes antagnicos, descartando qualquer
pretenso desta Secretaria em apresentar um currculo ideal, enquadrado
perfeitamente numa nica teoria e implementado rigorosamente numa
perspectiva cientfico-racional.
Ao mesmo tempo, consideramos a necessidade pedaggica e poltica
de definir referenciais curriculares comuns, diretrizes gerais para a Rede, tendo
em vista que [...] a no definio de pontos de chegada contribui para a
manuteno de diferentes patamares de realizao, e, portanto, manuteno
das desigualdades (SAVIANI, 2008). No entanto, nessa definio no
podemos desconsiderar que o currculo na ao diz respeito no somente
[...] a saberes e competncias, mas tambm a representaes, valores,
papis, costumes, prticas compartilhadas, relaes de poder, modos de
participao e gesto etc. (idem, 2008) e que a realidade de cada grupo,
de cada escola seja tomada como ponto de partida para o desenvolvimento
deste Currculo.
Assim como no espao concreto da sala de aula e da escola, no
currculo formal os elementos da cultura global da sociedade so conciliveis,
4 - Avaliao diagnstica inicial do currculo em verso experimental pelos professores a partir de maio de 2011, plenrias
regionalizadas para discusso do currculo no 2, 3 e 4 bimestres do ano letivo de 2011, Grupos de Trabalho constitudos em
outubro de 2012 para sistematizar as discusses das plenrias regionalizadas.
23
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
5 - Texto extrado do Documento: Educao Integral: ampliando tempos, espaos e oportunidades educacionais, elaborado pela
equipe que comps a Secretaria Extraordinria para a Educao Integral do GDF, 2009.
6 - presidente da NOVACAP Companhia Urbanizadora da Nova Capital construa os diferentes setores planejados para a nova
capital, Juscelino Kubitschek colocava nas mos de homens competentes seu planejamento urbano como transporte, comunicaes,
sade, educao e todas as reas primordiais para o completo funcionamento de uma cidade. A ideia era transformar Braslia em
realidade e exemplo a ser seguido com a inaugurao, em 1960.
7 - As informaes sobre as escolas-parque tiveram como fonte principal a pesquisa Educao Bsica Pblica no Distrito
Federal: Origens de um Projeto Inovador - 1956/1964, financiada pela FAP-DF, desenvolvida na Faculdade de Educao da UnB,
sob a coordenao da Professora Eva Waisros Pereira. Recomenda-se a leitura dos trabalhos da referida pesquisa para maior
aprofundamento sobre as escolas-parque e o prprio Plano Educacional de Braslia.
favorecendo uma aproximao entre o conhecimento universal e o
conhecimento local em torno de temas, questes, problemas que podem
ser trabalhados como projetos pedaggicos por grupos ou por toda a escola,
inseridos nos projetos poltico-pedaggicos, construdos coletivamente.
Nessa perspectiva, os conhecimentos se complementam e so
significados numa relao dialtica que os amplia no dilogo entre diferentes
saberes. A efetivao dessa aproximao de conhecimentos se dar nas
escolas, nas discusses coletivas da proposta curricular de cada instituio,
tomando como referncia este Currculo de Educao Integral.
2.2 Concepo de Educao Integral: ampliao de tempos,
espaos e oportunidades
5
Em 1957, Ansio Teixeira, ento diretor do INEP, concebeu o Plano
Educacional de Braslia
6
. Tratava-se de um plano ousado e inovador que traria
da Bahia a experincia de escola-parque, do Centro Educacional Carneiro
Ribeiro. No somente: reformaria os currculos vigentes, excluindo temas
inadequados e introduzindo ferramentas de ensino mais modernas, como
a televiso, o rdio e o cinema. O programa educacional compreenderia
verdadeiros centros para o ensino elementar, composto pelos jardins de
infncia, escolas classe e escolas-parque
7
, alm de centros para o ensino
secundrio, composto pela Escola Secundria Compreensiva e pelo Parque
de Educao Mdia. Aps a concluso do ensino secundrio, o aluno estaria
preparado para ingressar na Universidade de Braslia.
Os principais objetivos que nortearam o pensamento de Ansio Teixeira
para a educao de Braslia foram: a) fazer escolas nas proximidades das
reas residenciais, para que as crianas no precisassem andar muito para
alcan-las e para que os pais no ficassem preocupados com o trnsito de
veculos (pois no teria trfego de veculos entre o caminho da residncia
e da escola), obedecendo a uma distribuio equitativa e equidistante; b)
promover a convivncia das mais variadas classes sociais numa mesma
escola, seja o filho de um ministro ou de um operrio que trabalhava na
24
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
construo de uma superquadra, tendo como objetivo a formao de cidados
preparados para um mundo sem diferenas sociais; c) oferecer escolas para
todas as crianas e adolescentes; d) introduzir a educao integral, com
vistas formao completa da criana e do adolescente; e) promover a
sociabilidade de jovens da mesma idade, porm provindos de diferentes
classes sociais, por meio da juno num Centro de todos os cursos de grau
mdio, com atividades na biblioteca, na piscina, nas quadras de esporte,
grmios, refeitrio (KUBISTSCHEK, 2000, p.141).
Ao delinear uma proposta de educao moderna, Ansio Teixeira
rompeu diversas barreiras e, apesar de inmeras crticas muitas vezes
infundadas, pensou numa educao integral, onde as crianas e adolescentes
pudessem ter ambientes que propiciassem a interao entre sociedade e
escola. No somente isto: os alunos teriam as ferramentas necessrias e
tambm oportunidades de vida para serem cidados do futuro e do mundo
industrializado. Cabia escola a preparao ampla deste novo cidado da
sociedade moderna, que iria alm das quatro horas dirias de estudo, em
direo educao integral, que no se resumia em dois turnos na escola,
mas em oito horas de formao do indivduo com atividades de estudo,
trabalho e tambm esporte e recreao, incluindo-se intervalo para o almoo.
A ideia da Secretaria de Estado de Educao do Distrito Federal
(SEEDF) de promover a Educao Integral um resgate da prpria histria
de Braslia, que se confunde com os ideais de Ansio Teixeira para a escola,
como um espao de mltiplas funes e de convvio social, que busca o
desenvolvimento integral do ser humano. Trata-se de uma viso peculiar
do homem e da educao. O homem no um ser fragmentado, um
Frankenstein dividido e depois juntado em partes. um ser nico, especial
e singular, na inteireza de sua essncia, na inefvel complexidade de sua
presena. E a educao uma grande arte de convivncia, que une os
homens entre si em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania.
Na sociedade atual, a escola chamada a desempenhar intensivamente
um conjunto de funes diversas. Alm da funo de instruir e avaliar, a
escola tem de orientar (pedaggica, vocacional e socialmente), de cuidar
e acolher crianas e jovens em complementaridade com a famlia, de se
relacionar ativamente com a comunidade, de gerir e adaptar currculos, de
coordenar um grande nmero de atividades, de organizar e gerir recursos
e informaes educativas, de autogerir e se administrar, de autoavaliar, de
ajudar a formar seus prprios docentes, de avaliar projetos e de abordar a
importncia da formao ao longo de toda a vida (ALARCO, 2001). Essa
multiplicidade de funes, algumas questionveis e questionadas, incorpora
25
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
escola responsabilidades que no eram vistas como tipicamente escolares,
mas que, se no estiverem garantidas, podem inviabilizar o trabalho
pedaggico (BRASIL, 2009).
Longe de uma viso de escola como instituio total ou panaceia para
todos os males, nesse contexto educacional que a Educao Integral tambm
deve ser pensada, pois no pretende substituir o papel e a responsabilidade
da famlia ou do Estado ou ainda de sequestrar o educando da prpria vida,
mas que vem responder s demandas sociais de seu tempo. A SEEDF prope
um novo paradigma para a Educao Integral que compreenda a ampliao
de tempos, espaos e oportunidades educacionais.
Tempos - criana precisa gostar da escola, querer estar na escola. A
escola precisa ser convidativa. Tirar a criana da rua pode ser consequncia
desse fato, mas no um objetivo em si, que poderia redundar numa viso
de enclausuramento. A escola no pode ser vista como um depsito de
crianas para ocupar tempo ocioso ou para passar o tempo. Existe uma
intencionalidade educativa (MAURCIO, 2009).
A concepo de educao integral assumida neste Currculo pressupe
que todas as atividades so entendidas como educativas e curriculares.
Diferentes atividades esportivas e de lazer, culturais, artsticas, de
educomunicao, de educao ambiental, de incluso digital, entre outras
no so consideradas extracurriculares ou extraclasse, pois fazem parte de um
projeto curricular integrado que oferece oportunidades para aprendizagens
significativas e prazerosas. H um conjunto de conhecimentos sistematizados
e organizados no currculo escolar e tambm prticas, habilidades, costumes,
crenas e valores que conformam a base da vida cotidiana e que, somados
ao saber acadmico, constituem o currculo necessrio vida em sociedade
(GUAR, 2006).
Espera-se, com essa lgica curricular, favorecer o encontro
interdisciplinar, bem como evitar a valorao entre um tempo de alegria,
caracterizado por atividades no convencionalmente escolares, e um
tempo de tristeza, caracterizado pelo contedo formal e acadmico, pois
a Educao Integral no pretende rachar a escola ou levantar um muro
temporal conturbado e fragmentado.
Entretanto, essa compreenso do tempo escolar exige, ao contrrio
do que possa parecer primeira vista, um nvel mais complexo e flexvel de
organizao do trabalho pedaggico. Para tanto, vital que o corpo docente
esteja envolvido com a proposta, repensando o projeto poltico-pedaggico,
no que se refere regulao do tempo, horrios, planejamentos, prazos,
execuo de tarefas, propiciando vivncias multidimensionais, distribudas
26
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
em uma carga horria curricular, articulada e integrada.
Espaos - a escola no s um espao fsico. um clima de
trabalho, uma postura, um modo de ser, conforme Freire (1993). Assim, a
Educao Integral considera a existncia de uma complexa rede de atores,
ambientes, situaes e aprendizagens que no podem ser reduzidas a mera
escolarizao, pois correspondem s diversas possibilidades, requisies
sociais e expresses culturais presentes no cotidiano da vida.
Ao entender que a educao extrapola os muros da sala de aula,
sendo realizada na vida vivida, em diversos momentos e mltiplos lugares,
necessria a ressignificao do prprio ambiente escolar: a escola deixa de
ser o nico espao educativo para se tornar uma articuladora e organizadora
de muitas outras oportunidades educacionais no territrio da comunidade.
Segundo Torres (2005), em uma comunidade de aprendizagem todos os
espaos so educadores - museus, igrejas, monumentos, ruas e praas,
lojas e diferentes locaes, cabendo escola articular projetos comuns
para utiliz-los, considerando espaos, tempos, sujeitos e objetos do
conhecimento. Desse modo, na Educao Integral necessria a emergncia
de outra referncia de escola, isto , de uma ambincia escolar voltada
para os saberes comunitrios e para uma escuta sensvel da complexidade
existente entre o que ocorre dentro e fora dos muros escolares.
Como observa Gadotti (1995), a escola o lcus central da educao.
Por isso, deve tornar-se o polo irradiador da cultura, no apenas para
reproduzi-la ou executar planos elaborados fora dela, mas para constru-
la, seja a cultura geral, seja a popular. Uma verdadeira escola cidad
preocupada com a mudana do contexto social por meio de maior dilogo
com a comunidade. A escola no pode ser mais um espao fechado.
O papel da escola no deve limitar-se apenas regio intramuros,
onde a prtica pedaggica se estabelece. A escola , sobretudo, um ambiente
que recebe diferentes sujeitos, com origens diversificadas, histrias, crenas
e opinies distintas, que trazem para dentro do ambiente escolar discursos
que colaboram para sua efetivao e transformao. Essa construo de
identidades e de significados, por sua vez, diretamente influenciada pela
reestruturao do espao escolar rumo aproximao com a comunidade.
A escola abre um dilogo profundo com sua comunidade, dando novos
significados ao conhecimento, que passa a ficar cada vez mais intimamente
ligado vida das pessoas e aos territrios. E quando o territrio explorado
e experimentado pedagogicamente pelas pessoas, passa a ser ressignificado
pelos novos usos e interpretaes. Humaniza-se e acolhe com mais qualidade
seus habitantes, que passam a reconhecer-se como fazendo parte daquele
27
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
lugar, consolidando-se cada vez mais o pertencimento.
O projeto poltico-pedaggico numa perspectiva de Educao Integral
no pode ser elaborado para a comunidade, mas pode e deve ser pensado
com a comunidade. A primeira perspectiva compreende a comunidade como
incapaz de projetar para si mesma uma escola de qualidade; a segunda
possibilidade percebe a comunidade como participante ativa da construo
do processo educacional.
Nesse contexto, a escola pode e deve lanar mo do que ela tem
de perspectiva contempornea: um lugar de pertencimento. Quando a
comunidade tambm se constitui como parte atuante da escola, com voz e
participao na construo coletiva do projeto poltico-pedaggico, surge o
sentido de pertencimento, isto , a escola passa a pertencer comunidade
que, por sua vez, passa a zelar com mais cuidado por seu patrimnio; a
escola comea a sentir-se pertencente quela comunidade e, ento, comea
a criar, planejar e respirar os projetos de interesse de sua gente, de sua
realidade.
Oportunidades - a opo pela educao integral emerge da prpria
responsabilidade dos sistemas de ensino. preconizada no artigo 22 da LDB
9.394/96: A Educao Bsica tem por finalidade desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formao comum indispensvel para o exerccio da cidadania
e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Quando se fala da importncia da educao para o exerccio da
cidadania, no se trata apenas de garantir o ingresso na escola, mas de buscar
a aprendizagem e o sucesso escolar de cada criana, adolescente e jovem
nesse espao formal de ensino. O Artigo 206 da Constituio Federal (1988)
preconiza [...] a igualdade de condies para o acesso e a permanncia na
escola. Assim sendo, o direito educao de qualidade se constitui como
requisito fundamental para a vivncia dos direitos humanos e sociais.
Embora a educao Integral surja como uma alternativa de preveno
ao desamparo das ruas, alm da expectativa de cuidado e proteo dos
filhos, h nas famlias o desejo de que o tempo maior de estudo seja uma
abertura s oportunidades de aprendizagem, negadas para grande parte da
populao infanto-juvenil em situao de pobreza ou de risco pessoal e
social (GUAR, 2006).
Diante desse desafio, no se pode deixar de mencionar que a
Educao Integral vai ao encontro de uma sociedade democrtica de direitos,
constituindo-se, portanto, como uma poltica pblica de incluso social e
de vivncia da cidadania. A Educao Integral faz parte de um conjunto
articulado de aes por parte do Estado que preconiza a importncia do
28
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
desenvolvimento humano em todas suas dimenses, alm da necessidade
de se garantir direitos e oportunidades fundamentais para a populao
infanto-juvenil.
Para darmos conta do desafio de concretizar a Educao Integral
alicerada sobre a ampliao de trs eixos estruturantes: tempo, espao
e oportunidade, necessria a unio de esforos, experincias e saberes,
ou seja, vital a constituio de uma comunidade de aprendizagem
formada por diversos atores sociais. So eles: diretores(as), professores(as),
coordenadores(as) pedaggicos(as), estudantes, pais, agentes comunitrios,
enfim, todos juntos para a promoo de uma educao de qualidade.
A Educao Integral depende, sobretudo, de relaes que visam
integrao, seja de contedos, seja de projetos, seja de intenes. Para ela,
num mundo cada vez mais complexo, a gesto das necessidades humanas e
sociais exige a contribuio de mltiplos atores e sujeitos sociais, de uma nova
cultura de articulao e abertura de projetos individuais e coletivos para a
composio com outros conhecimentos, programas e saberes (GUAR, 2006).
2.2.1 Princpios da Educao Integral
Os princpios da Educao Integral nas escolas pblicas do Distrito
Federal a serem observados pelas escolas no planejamento, na organizao
e na execuo das aes de Educao Integral so:
Integralidade: a educao integral um espao privilegiado para
se repensar o papel da educao no contexto contemporneo, pois envolve
o grande desafio de discutir o conceito de integralidade. importante dizer
que no se deve reduzir a educao integral a um simples aumento da carga
horria do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da
formao integral de crianas, adolescentes e jovens, buscando dar a devida
ateno para todas as dimenses humanas, com equilbrio entre os aspectos
cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve
considerar que a aprendizagem se d ao longo da vida (crianas, adolescentes,
jovens e adultos aprendem o tempo todo), por meio de prticas educativas
associadas a diversas reas do conhecimento, tais como cultura, artes,
esporte, lazer, informtica, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento
das potencialidades humanas. Assim, prope-se que cada escola participante
da Educao Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu projeto poltico-
pedaggico, repense a formao de seus alunos de forma plena, crtica e
cidad.
Intersetorializao: a Educao Integral dever ter assegurada
29
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
a intersetorializao no mbito do Governo entre as polticas pblicas de
diferentes campos, em que os projetos sociais, econmicos, culturais e
esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de servios
pblicos como forma de contribuio para a melhoria da qualidade da
educao.
Transversalidade: a ampliao do tempo de permanncia do aluno
na escola dever garantir uma Educao Integral que pressupe a aceitao
de muitas formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os
alunos trazem de fora da escola. A transversalidade s faz sentido dentro de
uma concepo interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem
aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade.
Dilogo Escola e Comunidade: as escolas que avanaram na
qualidade da educao pblica foram as que avanaram no dilogo com
a comunidade (BRASIL, 2008). Na Educao Integral necessria a
transformao da escola num espao comunitrio, legitimando-se os
saberes comunitrios como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto
pedaggico implica pensar na escola como um polo de induo de intensas
trocas culturais e de afirmao de identidades sociais dos diferentes grupos
presentes, com abertura para receber e incorporar saberes prprios da
comunidade, resgatando tradies e culturas populares.
Territorialidade: significa romper com os muros escolares,
entendendo a cidade como um rico laboratrio de aprendizagem. Afinal,
a educao no se restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada
em espaos da comunidade como igrejas, sales de festa, centros e
quadras comunitrias, estabelecimentos comerciais, associaes, posto
de sade, clubes, entre outros, envolvendo mltiplos lugares e atores. A
educao se estrutura no trabalho em rede, na gesto participativa e na
corresponsabilizao pelo processo educativo.
Torna-se necessrio enfrentar o desafio primordial de mapear os
potenciais educativos do territrio em que a escola se encontra, planejando
trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a
comunidade, sociedade civil organizada e poder local, com vistas criao
de projetos socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento das
possibilidades educativas.
Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando
experincias e informaes, com o objetivo de criar oportunidades de
aprendizagem para todas as crianas, adolescentes e jovens. O estudante no
s do professor ou da escolamas da rede, existindo uma corresponsabilidade
pela educao e pela formao do educando. Nessa ambincia favorvel ao
30
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
dilogo, o professor no est sozinho, faz parte da equipe da escola e da
rede de ensino.
Pensar e desenvolver um projeto de educao integral para o Distrito
Federal pressupe reconhecer as fragilidades de um modelo de educao
que tem dificultado o acesso ao conhecimento em todas suas formas de
manifestao e contribudo para aprofundar o fosso social entre os estudantes
da escola pblica. Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este o
momento de despedida desse modelo com algumas resistncias e medos, de
lugares conceituais, tericos e epistemolgicos, porm no mais convincentes
e adequados ao tempo presente, [...] uma despedida em busca de uma vida
melhor a caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais fundado e a
racionalidade mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a ser uma
aventura encantada (SANTOS, 2003, p. 58).
O projeto de educao integral orienta-se pelos referenciais da
Pedagogia Histrico-Crtica e da Psicologia Histrico-Cultural.
2.3 Pedagogia Histrico-Crtica e Psicologia Histrico-Cultural:
base terico-metodolgica
O Currculo da Educao Bsica da Secretaria de Estado de Educao
do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histrico-Crtica e na
Psicologia Histrico-Cultural, opo terico-metodolgica que se assenta em
inmeros fatores, sendo a realidade socioeconmica da populao do Distrito
Federal um deles. Isso porque o Currculo escolar no pode desconsiderar o
contexto social, econmico e cultural dos estudantes. A democratizao do
acesso escola para as classes populares requer que esta seja reinventada,
tendo suas concepes e prticas refletidas e revisadas com vistas ao
atendimento s necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez
mais heterogneo que adentra a escola pblica do DF.
31
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Quadro 1 Vulnerabilidade social nas regies administrativas
Os dados do quadro acima ratificam a necessidade de polticas
intersetoriais democrticas que garantam aos moradores dessas regies o
atendimento a seus direitos, sendo o direito educao pblica de qualidade
o principal deles. Para se garantir direitos educacionais, necessrio
reconhecer as desigualdades relacionadas ao sistema pblico de ensino. A
partir da, priorizar a construo de um projeto educacional que contribua para
a democratizao dos saberes, garantindo a todos o direito aprendizagem e
formao cidad. A perspectiva de retomada vigorosa da luta contra [...]
a seletividade, a discriminao e o rebaixamento do ensino das camadas
populares. [...] garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade
possvel nas condies histricas atuais [...] (SAVIANI, 2008, p. 25-26).
Com esse intuito, este Currculo de Educao Bsica se fundamenta
nos referenciais da Pedagogia Histrico-Crtica e da Psicologia Histrico-
Cultural, por apresentarem elementos objetivos e coerentes na compreenso
da realidade social e educacional, buscando no somente explicaes para
32
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
as contradies sociais, mas, sobretudo, para super-las, identificando as
causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. Nessa
perspectiva, necessrio que a escola estabelea fundamentos, objetivos,
metas, aes que orientem seu trabalho pedaggico, considerando a
pluralidade e diversidade social e cultural em nvel global e local. A busca
pela igualdade entre as pessoas, [...] igualdade em termos reais e no
apenas formais, [...], articulando-se com as foras emergentes da sociedade,
em instrumento a servio da instaurao de uma sociedade igualitria
(SAVIANI, 2008, p. 52).
A Pedagogia Histrico-Crtica esclarece sobre a importncia dos
sujeitos na construo da histria. Sujeitos que so formados nas relaes
sociais e na interao com a natureza para a produo e reproduo de sua
vida e de sua realidade, estabelecendo relaes entre os seres humanos e a
natureza. Consequentemente, [...] o trabalho educativo o ato de produzir,
direta e intencionalmente, em cada indivduo singular, a humanidade que
produzida histrica e coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI,
2003, p. 07), exigindo que seja uma prtica intencional e planejada.
Essa compreenso de desenvolvimento humano situa a escola num
contexto marcado por contradies e conflitos entre o desenvolvimento das
foras produtivas e as relaes sociais de produo. Essa natureza contraditria
da escola quanto a sua funo de instruir e orientar moralmente a classe
trabalhadora pode indicar a superao dessas contradies, medida que
a escola assume sua tarefa de garantir a aprendizagem dos conhecimentos
historicamente constitudos pela humanidade, em situaes favorveis
aquisio desses contedos, articuladas ao mundo do trabalho, provendo,
assim, condies objetivas de emancipao humana.
Na perspectiva da Pedagogia Histrico-Crtica, o estudo dos contedos
curriculares tomar a prtica social dos estudantes como elemento para a
problematizao diria na escola e sala de aula e se sustentar na mediao
necessria entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e
sentidos culturais.
A Prtica social compreendida como o conjunto de saberes,
experincias e percepes construdas pelo estudante em sua trajetria
pessoal e acadmica e que transposto para o estudo dos conhecimentos
cientficos. Considerar a prtica social como ponto de partida para a construo
do conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadmicos a partir
da articulao dialtica de saberes do senso comum, escolares, culturais,
cientficos, assumindo a igualdade entre todos eles. O trabalho pedaggico
assim concebido compreende que a transformao da prtica social se inicia a
33
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediao
entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem
construda e sustentada na participao e na colaborao dos atores.
funo primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os
estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de
qualidade. Para isso, o reconhecimento da prtica social e da diversidade
do estudante da rede pblica do ensino do Distrito Federal so condies
fundamentais. importante reconhecer que todos os agentes envolvidos
com a escola participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido,
a Psicologia Histrico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo
e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem,
compreendendo a educao como fenmeno de experincias significativas,
organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem no ocorre
solitariamente, mas na relao com o outro, favorecendo a crianas, jovens
e adultos a interao e a resoluo de problemas, questes e situaes
na zona mais prxima do nvel de seu desenvolvimento. A possibilidade
de o estudante aprender em colaborao pode contribuir para seu xito,
coincidindo com sua zona de desenvolvimento imediato (VIGOSTSKY,
2001, p. 329). Assim, aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade
isolada e inata, passando a ser compreendida como processo de interaes
de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem
e com os professores num ambiente favorvel humanizao.
O desenvolvimento dos estudantes favorecido quando vivenciam
situaes que os colocam como protagonistas do processo ensino-
aprendizagem, tendo o professor como mediador do conhecimento
historicamente acumulado, por meio de aes intencionais didaticamente
organizadas para a formao de um sujeito histrico e social.
Assim, o objeto da educao trata de dois aspectos essenciais,
articulados e concomitantes: a) Identificar os elementos culturais produzidos
pela humanidade que contribuam para a humanizao dos indivduos,
distinguindo entre o essencial e o acidental, o principal e o secundrio, o
fundamental e o acessrio (SAVIANI, 2003, p. 13); b) organizar e refletir sobre
as formas mais adequadas para atingir essa humanizao, estabelecendo
valores, lgicas e prioridades para esses contedos.
A aprendizagem, sob a tica da Psicologia Histrico-Cultural, s
se torna vivel quando o projeto poltico-pedaggico que contempla a
organizao escolar considera as prticas e interesses sociais da comunidade.
A identificao da prtica social, como vivncia do contedo pelo educando,
o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definio
34
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
de todo o percurso metodolgico a ser construdo pelos professores. A partir
dessa identificao, a problematizao favorece o questionamento crtico
dos conhecimentos prvios da prtica social e desencadeia outro processo
mediado pelo docente, o de instrumentalizao terica, em que o dilogo
entre os diversos saberes possibilita a construo de novos conhecimentos
(SAVIANI, 2003).
Na organizao do trabalho pedaggico, a prtica social, seguida da
problematizao, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho
do professor com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. So
indicados procedimentos e contedos a serem adotados e trabalhados
por meio da aquisio, significao e recontextualizao das diferentes
linguagens expressas socialmente. A mediao docente resumindo,
interpretando, indicando, selecionando os contedos numa experincia
coletiva de colaborao produz a instrumentalizao dos estudantes nas
diferentes dimenses dos conceitos cotidianos e cientficos que, por sua
vez, possibilitar outra expresso da prtica social (catarse e sntese). Tal
processo de construo do conhecimento percorrer caminhos que retornam
de maneira dialtica para a prtica social (prtica social final).
Figura 1 Processo de construo de conhecimentos
A diferena entre o estgio inicial (prtica social) e o estgio final
(prtica social final) no revela o engessamento do saber, apenas aponta
avanos e a ideia de processo. Sendo assim, o que hoje considerarmos
finalizado, ser amanh incio de um novo processo de aprendizagem. Isso
porque professor e aluno [...] modificaram-se intelectual e qualitativamente
em relao a suas concepes sobre o contedo que reconstruram,
passando de um estgio menor de compreenso cientfica a uma fase de
maior clareza e compreenso dessa mesma concepo dentro da totalidade
(GASPARIN, 2012, p. 140). Professor e estudantes passam, ento, a ter novos
posicionamentos em relao prtica social do contedo que foi adquirido,
mesmo que a compreenso do contedo ainda no se tenha concretizado
35
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
como prtica, porque esta requer aplicao em situaes reais (Idem).
Nessa perspectiva, a prtica pedaggica com significado social deve ser
desenvolvida para alm da dimenso tcnica, permeada por conhecimentos,
mas tambm por relaes interpessoais e vivncias de cunho afetivo,
valorativo e tico. As experincias e as aprendizagens vinculadas ao campo
das emoes e da afetividade superam dualismos e crescem em meio s
contradies. Assim, a organizao do trabalho pedaggico da sala de aula
e da escola como um todo deve possibilitar o uso da razo e emoo, do
pensamento e sentimento para tornar positivas e significativas as experincias
pedaggicas.
O delineamento dos processos intencionais de comunicao e produo
dos conhecimentos acrescido da compreenso das diversas relaes que
se estabelecem com e na escola, no se excluindo nenhum daqueles que
interagem dentro ou com essa instituio: pais, mes, profissionais da
educao, estudantes e membros da comunidade escolar como um todo.
A Secretaria de Estado de Educao do Distrito Federal (SEEDF)
reconhece que a educao determinada pela sociedade, mas essa
determinao relativa; a educao pode interferir na mesma, contribuindo
para sua transformao. Sendo assim, a concretizao deste Currculo, como
elemento estruturante das relaes sociais que ocorrem na escola, se dar
articulada ao projeto poltico-pedaggico de cada escola, instrumento que
define caminhos na busca pela qualidade social da educao pblica do DF.
Qualidade referenciada nos sujeitos sociais que [...] concebe a escola como
centro privilegiado de apropriao do patrimnio cultural historicamente
acumulado pela humanidade, espao de irradiao e de difuso de cultura
(ARAJO, 2012, p. 233). Nessa perspectiva, o Currculo compreendido
como [...] construo, [...] campo de embates e de disputas por modos de
vida, tipo de homem e de sociedade que se deseja construir (idem). E a
escola espao de produo de culturas e no de reproduo de informaes,
teorias, regras ou competncias alinhadas lgica mercadolgica.
Historicamente, a escola pblica no incorporou de forma efetiva as
demandas das classes populares, mesmo com a democratizao do acesso da
maioria da populao ao ensino fundamental. O indicador dessa incompletude
da escola se revela por meio da no garantia das aprendizagens para todos
de maneira igualitria. A SEEDF assume seu papel poltico-pedaggico como
todo ato educacional em si o revela, apresentando este Currculo com uma
concepo de educao como direito e no como privilgio, articulando as
dimenses humanas com as prticas curriculares em direo a uma escola
republicana, justa, democrtica e fraterna. Para isso, privilegia eixos que no
36
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
devem ser trabalhados de forma fragmentada e descontextualizada, mas
transversal, articulando conhecimentos de diferentes reas.
2.4 Eixos Transversais
Historicamente, a escola tem excludo dos currculos narrativas
das crianas, dos negros, das mulheres, dos ndios, dos quilombolas,
dos campesinos, entre outras, reforando a hegemonia de determinados
conhecimentos sobre outros construdos pelos sujeitos sociais em diferentes
espaos de trabalho e vida. A SEEDF compreende que Educao tem a ver
com questes mais amplas e que a escola o lugar de encontros de pessoas,
origens, crenas, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de
criao de identidades. Por serem questes contemporneas, fundamentais
para a consolidao da democracia, do Estado de Direito e da preservao
do ambiente em que as pessoas vivem; essas temticas tratam de processos
que esto sendo intensamente vivenciados pela sociedade brasileira de
modo geral e pela sociedade do DF de modo especfico, assim como pelas
comunidades, pelas famlias, pelos(as) estudantes e educadores(as) em seu
cotidiano.
Este Currculo contempla as narrativas historicamente negligenciadas,
ao eleger como eixos transversais: Educao para a Diversidade, Cidadania e
Educao em e para os Direitos Humanos, Educao para a Sustentabilidade.
Os eixos transversais favorecem uma organizao curricular mais
integrada, focando temas ou contedos atuais e relevantes socialmente
e que, em regra geral, so deixados margem do processo educacional
(SANTOM, 1998). A expectativa de que a transversalidade desses temas
torne o Currculo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo
tempo em que indica que a responsabilidade pelo estudo e discusso dos
eixos no restrita a grupos ou professores individualmente, mas ao coletivo
de profissionais que atuam na escola.
Os eixos transversais possibilitam o acesso do(a) estudante aos
diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivncias diversificadas
e a construo/reconstruo de saberes especficos de cada ciclo/etapa/
modalidade da educao bsica. Os contedos passam a ser organizados
em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o
trabalho pedaggico a ser desenvolvido por professores(as) e estudantes, de
forma interdisciplinar, integrada e contextualizada.
O currculo o conjunto de todas as aes desenvolvidas na e
pela escola ou por meio dela e que formam o indivduo, organizam seus
37
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na constituio do seu ser
como pessoa. tudo o que se faz na escola, no apenas o que aprende, mas
a forma como aprende, como avaliado, como tratado. Assim, todos os
temas tradicionalmente escolares e os temas da vida atual so importantes
e compem o currculo escolar, sem hierarquia entre eles.
Os temas assumidos neste Currculo como eixos interagem entre
si e demandam a criao de estratgias pedaggicas para abord-las da
maneira mais integradora possvel, mais imbricada, capaz de fazer com que
os(as) estudantes percebam as mltiplas relaes que todos os fenmenos
acomodam e exercem entre si.
2.4.1 Educao para a Diversidade
Historicamente, desde que o Brasil foi achado por Portugal, em 1.500,
sua constituio deu-se sob as bases do colonialismo, do patriarcado e do
escravismo, sendo visto por seus colonizadores como uma terra extica,
tropical, habitada inicialmente por ndios nativos e mais tarde por negros
trazidos do Continente Africano. Posteriormente, passou a ser um consulado,
formado por povos sublusitanos, mestiados de sangues afros (sic) e
ndios (RIBEIRO, 1995, p. 447)
8
, que se encontravam como proletrios
marginalizados e comandados pelos portugueses.
As aspiraes desses povos no eram consideradas, visto que o
importante era garantir o enriquecimento da parcela que os explorava. Existia
um crescente estmulo captura de mais ndios e importao de negros
africanos, promovendo o aumento da fora de trabalho e cada vez mais lucro
metrpole. No houve uma preocupao em se construir um conceito de
povo, uma identidade nacional e tampouco de garantir aos trabalhadores
acesso a direitos, mesmo os mais elementares, como alimentao e moradia.
A escravido no Brasil estendeu-se por quase quatrocentos anos. O
Estado foi reestruturando-se a partir de conceitos republicanos excludentes,
que se distanciaram da realidade pluricultural do pas e, assim, sua identidade
nacional tornou-se frgil. O discurso da democracia racial passou a fazer
parte da cultura brasileira e a sociedade o incorporou no senso comum,
sendo um dos responsveis pelo no reconhecimento da essencialidade
dos valores negros, mestios e indgenas. Esse percurso causou encontros,
desencontros, conflitos, violncias e sua manifestao material foi legitimada
por leituras polticas europeias.
Nesse sentido, desde a colonizao, o direito e o poder foram
8 - RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formao e o sentido do Brasil. 2 edio - So Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 447.
38
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
pautados em uma legalidade racista e discriminatria. Houve, portanto, uma
contnua reproduo da segregao presente na histria da formao social
e poltica do Brasil. A independncia do Brasil, em 1822, no significou a
instituio de um Estado sem escravido. Durante os anos que se seguiram,
o Pas teve sua economia baseada na escravido, o negro visto como objeto
e o ndio, invisvel. Em 1888, com a abolio da escravido, a situao
dessas duas parcelas da populao no foi alterada, pois o negro teve que
sair das fazendas e se instalar nas periferias das cidades sem nenhuma
infraestrutura; os ndios cada vez mais tiveram sua cultura, suas terras e
sua gente destroadas. Criou-se, com isso, um abismo entre as parcelas da
populao com e sem acesso aos direitos
9
, sendo os afrodescendentes e
indgenas os desprivilegiados, nesse caso.
Ao considerarmos o perodo da histria do Brasil que se sucede a
abolio da escravido at finais dos anos oitenta do sculo XX, houve uma
srie de mudanas nos contextos social, poltico e econmico brasileiros. Alm
de negros e indgenas, outros grupos sociais como mulheres, Lsbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis (LGBT), camponeses sem terra, quilombolas, ciganos,
comunidades tradicionais foram engrossando as parcelas dos excludos no
Pas e sendo preteridos nos processos de construo da nao. possvel
afirmar que a identidade de um povo pode ser transformada e transformar-
se com o tempo; contudo, isso ocorre de forma lenta e gradual, seguindo o
percurso da histria. A velocidade das transformaes pode ser alterada nos
casos de guerras ou de grandes mudanas mundiais ou locais.
As lutas pelos direitos sociais forjadas no Brasil no se deram de forma
isolada do restante do mundo. Declaraes, tratados e acordos internacionais,
dos quais nosso pas signatrio, tornaram-se consensuais globalmente,
com vistas a promover os direitos dos cidados e cidads, respeitando suas
singularidades. Entre estes, inclui-se os que versam sobre o combate s
desigualdades, desde os mais gerais, como a Declarao Universal dos Direitos
Humanos (1948); at os mais especficos, como: a Conveno Interamericana
sobre a Concesso dos Direitos Civis da Mulher (1948); a Conveno sobre
os Direitos Polticos da Mulher (1953); a Conveno Internacional sobre a
Eliminao de Todas as Formas de Discriminao Racial (1965); a Conveno
Relativa Luta contra a Discriminao no Ensino (1967); a Conveno n169
da Organizao Internacional do Trabalho OIT sobre Povos Indgenas e
Tribais 27/06/1989; a Declarao dos Direitos das Pessoas Pertencentes a
Minorias Nacionais, tnicas Religiosas e Lingusticas (1992); e a Declarao e
Plano de Ao de Durban (2001).
9 - ARROYO, M. Outros sujeitos, outras pedagogias. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2012, p. 260.
39
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Esses tratados, mesmo com nfase nas questes de gnero, dos povos
indgenas e tnico-raciais, influenciam diretamente na escolarizao e em
seus vieses, pois temos visto que as pessoas que se encontram fora da
escola ou nela permanecem como excludos do interior (BOURDIEU, 2003)
fazem parte desses grupos de excludos. Vale lembrar que os acordos citados
advm das lutas sociais e foram em alguma medida, responsveis pela
reviso da legislao brasileira, incorporando na agenda poltica os princpios
da diversidade.
Os marcos legais que incluem as demandas da diversidade na educao
vo desde a Constituio Federal, em seus artigos 5, I; 210; 206, I, 1;
242; 215 e 216, passam pela Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educao Nacional em seus artigos 3, XII; 26; 26-A e 79-B, asseguram
o direito igualdade de condies de vida e de cidadania, garantem igual
direito s histrias e culturas que compem a nao brasileira e o direito de
acesso s diferentes fontes da cultura nacional. E chega a Lei Orgnica do
Distrito Federal em seu artigo 1, nico, da garantia de direitos s pessoas,
independentemente de idade, etnia, raa, cor, sexo, estado civil, trabalho
rural ou urbano, religio; artigo 246, 1, da difuso dos bens culturais, bem
como a lei N 4.920, de 21 de agosto de 2012, que dispe sobre o acesso
dos estudantes da rede pblica de ensino do Distrito Federal ao patrimnio
artstico, cultural, histrico e natural do Distrito Federal, como estratgia de
educao patrimonial e ambiental, e a Resoluo n 1/2012 do Conselho
de Educao do Distrito Federal CEDF, artigo 19, incisos I e VI, que traz
a obrigatoriedade do ensino de histria e cultura afro-brasileira e indgena,
bem como o dos direitos da mulher e de outras questes de gnero, como
componentes curriculares obrigatrios da Educao Bsica.
Outros documentos normativos que merecem destaque so: o
Plano Nacional de Polticas para as Mulheres PNPM; o Plano Nacional
de Promoo da Cidadania e Direitos Humanos LGBT (2009); o Parecer
n 03/2004 do Conselho Nacional de Educao/Cmara Plena CNE/CP;
a Resoluo n 01/2004 do CNE, o Plano Nacional de Implementao das
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educao das Relaes tnico-Raciais
e para o Ensino de Histria e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Portanto, h
um arcabouo legal robusto que orienta e direciona o trabalho da educao
para a diversidade.
Diversidade: o que e de onde vem?
A diversidade pode ser entendida como a percepo evidente da
40
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
variedade humana, social, fsica e ambiental presente na sociedade. Assim,
apresenta-se como um conjunto multifacetado e complexo de significaes.
Stuart Hall (2003) a define, no campo da cultura, como sendo uma oposio
aos pressupostos homogneos construdos pelo Estado moderno, liberal e
ocidental, que se pautou, sobretudo, nos modelos universais, individuais e
seculares.
Etimologicamente, o termo diversidade significa diferena,
dessemelhana, heterogeneidade, desigualdade. A diversidade est
relacionada, a um s tempo, diferena de padres, saberes e culturas
hierarquizadas e desigualdade econmica. Esse atributo nos leva a alguns
grupos excludos que, historicamente, tm vivenciado a desigualdade em
virtude de suas diferenas dos padres preestabelecidos: mulheres, pessoas
com deficincias, negros, povos indgenas, populao LGBT, quilombolas,
pessoas do campo e pobres, entre outros.
Para Yannoulas, o conceito de diversidade tambm muito vinculado
aos organismos internacionais e refere-se em um primeiro momento a
mltiplos aspectos, entre eles os econmicos e culturais do desenvolvimento,
visando ao resgate dos direitos humanos, defesa do pluralismo, promoo
de igualdade de oportunidades, ao empoderamento das denominadas
minorias, preservao do meio ambiente e do patrimnio cultural (2007,
p. 159). Dentro dessa perspectiva, o processo histrico das polticas de
desenvolvimento social e econmico do pas constituiu disparidades
inaceitveis.
Os indicadores de escolaridade
10
refletem esse desenvolvimento
desigual. A histria da escola pblica demonstra a parcialidade de seu
atendimento, pois est direcionada ao territrio urbano e segue uma matriz
cultural eurocntrica, poltica e economicamente especfica, o que ocasiona
excluso social de grupos particulares. A excluso no aleatria; recai sobre
grupos especficos que sofrem (e enfrentam) preconceito, discriminao e,
por fim, excluso.
Uma primeira reao matriz cultural normativa e centralizadora
foi o movimento feminista, que se deu em diversas reas e consolidou
conjuntos de pensamentos que defendem a igualdade de direitos entre
homens e mulheres (YANNOULAS, 2007). Posteriormente, o movimento
negro que, levando em considerao a longa durao dos processos
coloniais escravocratas e as especificidades dos debates e controvrsias
atuais, marcou as abordagens e enfrentamento das hierarquias tnico-raciais
10 - HENRIQUES, R. M. Desigualdade Racial no Brasil: evoluo das condies de vida na dcada de 90. Texto para discusso n.
807. Braslia: IPEA, 2001. Disponvel em: <http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 22/10/2013.
41
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
11 - Censo do IBGE 2010.
12 - Com base nos estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE, as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas
fazem parte de categorias que apresentam dados sociais aproximados, da serem denominadas negras.
excludentes, tentando reconfigur-las. Numa cronologia didtica, juntam-
se aos dois movimentos o ambientalista, a (centenria) luta do homem do
campo, a atualmente reconhecida luta dos povos indgenas, os movimentos
de legitimao da liberdade de orientao sexual e outros que agrupam as
vozes dos movimentos sociais.
A SEEDF reestrutura seu Currculo de Educao Bsica partindo da
definio de diversidade, com base na natureza das diferenas de gnero, de
intelectualidade, de raa/etnia, de orientao sexual, de pertencimento, de
personalidade, de cultura, de patrimnio, de classe social, diferenas motoras,
sensoriais, enfim, a diversidade vista como possibilidade de adaptar-se e de
sobreviver como espcie na sociedade.
Existe, ento, a compreenso de que fenmenos sociais, tais
como: discriminao, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia,
valorizao dos patrimnios material e imaterial e depreciao de pessoas
que vivem no campo acarretam a excluso de parcelas da populao dos
bancos escolares e geram uma massa populacional sem acesso aos direitos
bsicos.
Para tratar das questes tnico-raciais na escola h que se observar
o Estatuto dos Povos Indgenas, em seu artigo 180, inciso VI, que apresenta
como princpio da educao escolar indgena a garantia aos indgenas de
acesso a todas as formas de conhecimento, de modo a assegurar-lhes a
defesa de seus interesses e a participao na vida nacional em igualdade de
condies, como povos etnicamente diferentes. Assim, a poltica pblica
educacional indgena no se restringe ao reconhecimento das diferenas,
mas garantia da valorizao de sua identidade tnico-cultural e dos direitos
humanos de toda sua populao, contribuindo para um tratamento especfico
e distinto de saberes construdos por esses povos, no decorrer da Histria
do Brasil.
No que concerne incluso de negros na sociedade brasileira em geral,
e na educao de forma mais especfica, alguns conceitos podem auxiliar-
nos nesse debate. Termos como afro-brasileiro, antirracismo, etnocentrismo,
xenofobia, entre outros precisam estar presentes e ser abordados no Currculo
escolar, para que profissionais da educao e estudantes os compreendam e
percebam a importncia de sua presena na prtica pedaggica.
O termo afro-brasileiro, por exemplo, um adjetivo utilizado para referir-
se a 50,7%
11
da populao brasileira com ascendncia parcial ou totalmente
africana, que se autodeclaram pretos e pardos, leia-se, negros
12
. Foi um
42
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
termo construdo a partir de uma calorosa discusso sobre quem representa
efetivamente esse segmento populacional no Brasil, principalmente depois
dos posicionamentos oficiais em relao reserva de vagas, pelo sistema
de cotas, para negros e indgenas nas universidades. Tambm fundante o
entendimento de que o processo de excluso da populao negra brasileira
passa pela ideologia do branqueamento
13
(DOMINGUES, 2002), que foi
uma ideologia com grande aceitao pelas elites brasileiras at a dcada de
1930. A ideia central era transformar o Brasil, que era negro e mestio, em
um pas branco.
A questo de gnero a ser trabalhada em sala de aula deve comear
pelo entendimento de como esse conceito ganhou contornos polticos. O
conceito de gnero surgiu entre as estudiosas feministas para se contrapor
ideia da essncia, recusando qualquer explicao pautada no determinismo
biolgico que pudesse explicitar comportamento de homens e mulheres,
empreendendo, dessa forma, uma viso naturalista, universal e imutvel
do comportamento. Tal determinismo serviu para justificar as desigualdades
entre homens e mulheres, a partir de suas diferenas fsicas. O sexo
atribudo ao biolgico, enquanto o gnero uma construo social e histrica.
A noo de gnero aponta para a dimenso das relaes sociais do feminino
e do masculino (LOURO, 1997 e BRAGA, 2007).
Assim, se as relaes entre homens e mulheres so um fenmeno
de ordem cultural, podem ser transformadas, sendo fundamental o papel
da educao nesse sentido. Por meio da educao, podem ser construdos
valores, compreenses e regras de comportamento em relao ao conceito
de gnero e do que venha a ser mulher ou homem em uma sociedade, de
forma a desconstruir as hierarquias historicamente constitudas. O conceito
de gnero tambm permite pensar nas diferenas sem transform-las em
desigualdades, sem que estas sejam ponto de partida para as discriminaes
e violncias.
A escola apresenta-se como um espao propcio para tratar dessas
questes, no como verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes
[...] compreenderem as implicaes ticas e polticas de diferentes posies
sobre o tema e construrem sua prpria opinio nesse debate. [...] A ideia de
que educao no doutrinao talvez valha aqui mais do que em qualquer
outro campo, pois estaremos lidando com valores sociais muito arraigados e
fundamentais (BRASIL, 2009, p. 14).
Pensar uma educao para a diversidade significa, na prtica:
13 - Scielo (Estudo afro-asitico, v. 24, n. 3, Rio de Janeiro, 2002) Disponvel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-
546X2002000300006&script=sci_arttext>, Acesso em: 16 out. 2013.
43
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
- Reconhecer a existncia da excluso no ambiente escolar.
- Buscar permanentemente a reflexo a respeito dessa excluso.
- Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatria.
- Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente
escolar, pelo vis da incluso dessas parcelas alijadas do processo.
- Pensar, criar e executar estratgias pedaggicas com base numa
viso crtica sobre os diferentes grupos que constituem a histria social,
poltica, cultural e econmica brasileira.
O trabalho concomitante com as questes de gnero, diversidade
sexual, relaes tnico-raciais e educao patrimonial oportuno e
necessrio, pois na vida cotidiana e na histria das sociedades ocidentais
essas questes esto imbricadas, necessitando de uma abordagem conjunta.
Nesse sentido, ao se sobreporem as diferentes desigualdades, acabam por
serem reforadas, formando um universo de subcidados e subcidads.
Educao do Campo no DF: modalidade de educao bsica em
construo
O conceito de Educao do Campo surge do processo de luta pela
terra empreendida pelos movimentos sociais do campo, no mbito da
luta por Reforma Agrria, como denncia e como mobilizao organizada
contra a situao atual do meio rural: situao de misria crescente, de
excluso/expulso das pessoas do campo; situao de desigualdades
econmicas, sociais, que tambm so desigualdades educacionais, escolares.
Seus sujeitos principais so as famlias e as comunidades de camponeses,
pequenos agricultores, os sem-terra, atingidos por barragens, ribeirinhos,
quilombolas, pescadores e muitos educadores(as) e estudantes das escolas
pblicas e comunitrias do campo, articulados em torno de movimentos
sociais e sindicais, de universidades e de organizaes no governamentais.
Todos(as) buscando alternativas para superar essa situao que desumaniza
os povos do campo, mas tambm degrada a humanidade como um todo.
O termo Educao do Campo, conceito forjado em 1998 na
Conferncia Nacional Por Uma Educao do Campo
14
CNEC, traz
importantes significados, contrapondo-se ao termo Escola Rural. Em primeiro
lugar, estamos tratando de um novo espao de vida, que no pode resumir-
se na dicotomia urbano/rural. O campo compreendido como um lugar de
vida, cultura, produo, moradia, educao, lazer, cuidado com o conjunto
da natureza e novas relaes solidrias que respeitem a especificidade social,
14 - Promovida pelo MST, UNICEF, UNESCO, CNBB e UnB.
44
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
tnica, cultural, ambiental dos seus sujeitos. (II CONFERNCIA, 2004)
A principal luta da Educao do Campo tem sido no sentido de garantir
o direito de uma educao no e do campo, isto , assegurar que as pessoas
sejam educadas no lugar onde vivem e sendo partcipes do processo de
construo da proposta educativa, que deve ocorrer a partir de sua prpria
histria, cultura e necessidades. Educao do Campo mais do que escola,
inclui uma luta prioritria que ter a escola prxima populao, pois ainda
hoje boa parte da populao do campo no tem garantido seu direito de
acesso Educao Bsica (BARBOSA, 2012).
Para a Educao do Campo, o debate sobre a educao indissocivel
do debate sobre os modelos de desenvolvimento em disputa na sociedade
brasileira e o papel do campo nos diferentes modelos, ou seja, o campo
precede a educao. Portanto, a especificidade mais forte da Educao do
Campo, em relao a outros dilogos sobre educao, deve-se ao fato de sua
permanente associao com as questes do desenvolvimento e do territrio
no qual se enraza.
O debate pedaggico encontra seu sentido e significado vinculado
luta pela Reforma Agrria, pois no tem sentido desencadear esforos para a
produo de teorias pedaggicas para um campo sem gente, para um campo
sem sujeitos ou, dito de outra forma, para uma ruralidade de espaos vazios.
O territrio do campo deve ser compreendido para muito alm de um espao
de produo agrcola. O campo territrio de produo de vida, de produo
de novas relaes sociais, de novas relaes entre as pessoas e a natureza,
de novas relaes entre o rural e o urbano.
A Educao do Campo ajuda a produzir um novo olhar para o campo.
E faz isso em sintonia com uma nova dinmica social de valorizao desse
territrio e de busca de alternativas para melhorar a situao de quem vive
e trabalha nele. Uma dinmica que vem sendo construda por sujeitos que j
no aceitam mais que o campo seja lugar de atraso e de discriminao, mas
lutam para fazer dele uma possibilidade de vida e de trabalho para muitas
pessoas, assim como a cidade tambm deve s-lo, nem melhor nem pior,
apenas diferente, uma escolha.
Em quinze anos de luta, a mobilizao dos movimentos sociais em
torno da Educao do Campo gerou importantes conquistas, entre elas a
aprovao das Diretrizes Operacionais para a Educao Bsica nas Escolas
do Campo (Resoluo n 1, de 3 de abril de 2002, e Parecer n 36/2001,
do Conselho Nacional de Educao). Outros marcos legais conquistados na
luta da Educao do Campo: Portaria n 86, de 1 de fevereiro de 2013,
que institui o Programa Nacional de Educao do Campo - PRONACAMPO
45
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
e define suas diretrizes gerais; Resoluo n 4, de 13 de julho de 2010,
que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educao
Bsica, definindo a Educao do Campo como modalidade de ensino;
Decreto n 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispe sobre a Poltica de
Educao do Campo e o Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria
PRONERA; e Resoluo n 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece
diretrizes complementares, normas e princpios para o desenvolvimento de
polticas pblicas de atendimento educao bsica do campo.
Ao Distrito Federal cabe elaborar sua Poltica Pblica em consonncia
com os marcos legais, considerando a constituio histrica da relao entre
urbano e rural no Brasil, e especificidades do territrio desta unidade da
Federao.
O territrio rural do DF tem cerca de 250.000ha; 46% dos
estabelecimentos rurais so de agricultores familiares que produzem mais
de 800.000 toneladas de alimentos por ano, apesar de ocuparem apenas
4% das terras. Espao rural marcado por contradies dadas pela presena
de seus atores: ruralistas, latifundirios, produtores familiares, camponeses
com ou sem terra.
Para garantir o direto educao de crianas, jovens e adultos do
campo, a rede pblica de ensino conta com 75 escolas, sendo apenas sete de
Ensino Mdio e somente uma oferecendo Ensino Mdio Noturno. A Educao
de Jovens e Adultos ainda pouco abrangente, com oferta em seis escolas
do DF. Estes so os dados que mais merecem destaque, pois esse pblico -
jovens e adultos - o menos assistido pela poltica pblica educacional do
campo no DF, atualmente.
A elaborao e implantao da Poltica Pblica de Educao do Campo
no DF vm preencher uma lacuna, existente h anos, nas escolas rurais do
Distrito Federal, oferecendo uma proposta pedaggica especfica para essa
modalidade da Educao Bsica.
Pressupostos Tericos da Educao do Campo
a materialidade de origem da Educao do Campo que define seus
objetivos, suas matrizes e as categorias tericas que indicam seu percurso. A
Especificidade da Educao do Campo , portanto, o campo, seus sujeitos e
seus processos formadores.
Segundo Barbosa (2012), a Educao do Campo afirma uma determinada
concepo de educao, no se limitando discusso pedaggica de uma
escola para o campo, nem de aspectos didtico-metodolgicos. Refere-se
46
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
ao traado de um novo desenho para as escolas do campo, que tenha as
matrizes formadoras dos sujeitos como espinha dorsal, que esteja adequado
s necessidades da vida no campo e que, fundamentalmente, seja formulado
por sujeitos do campo, tendo o campo como referncia e como matriz.
A Educao do Campo demarca uma concepo de educao em uma
perspectiva libertadora e emancipatria que pensa a natureza da educao
vinculada ao destino do trabalho: educar os sujeitos para um trabalho
no alienado, para a inteno em circunstncias objetivas que produzem
o humano. Se a educao tem seu papel na construo de outro mundo
possvel, deve assumir a funo de libertar das formas de opresso (FREIRE,
2000). Para Mszros, a educao libertadora teria como funo transformar
o trabalhador em um agente poltico que pensa, age e que usa a palavra
como arma para transformar o mundo (BARBOSA, 2012).
So categorias tericas centrais para a Educao do Campo as ideias
de hegemonia e contra-hegemonia formuladas por Gramsci (2002), uma vez
que essa educao se afirma como ao contra-hegemnica dominao
capitalista, assumindo o objetivo de contribuir com o acmulo de foras e
com a construo de uma nova cultura para a disputa da hegemonia pela
classe trabalhadora do campo.
Partindo dessa compreenso, a Educao do Campo tem como
objetivo construir a possibilidade de uma educao para alm do capital,
como formulado por Mszros (2005). Da crtica escola elitista, branca,
de classe, parte para a construo de uma escola dos trabalhadores e,
portanto, pblica, orientada pelas experincias empreendidas pelos sujeitos
trabalhadores do campo que oferecem teoria pedaggica, como afirma
Arroyo (2003), novos rumos para a organizao do trabalho pedaggico.
Na atualidade, vivemos na SEEDF um processo de gesto democrtica
15
que tem entre seus princpios garantir a participao da comunidade na
implementao de decises pedaggicas e democratizar as relaes
pedaggicas.
Contudo, para alcanar esse objetivo na escola do Campo, preciso
alterar a organizao do trabalho pedaggico, rompendo com os mecanismos
de subordinao da escola tradicional e instaurando processos pedaggicos
participativos, tornando possvel que a escola seja capaz de trabalhar, viver,
construir e lutar coletivamente, para que as crianas, jovens e adultos possam
organizar suas vidas e a vida coletiva. Assim, a escola estar construindo
cidadania, direitos e protagonismo, o que se faz nas relaes cotidianas e
no pelo verbalismo. Tais processos pedaggicos participativos permitiro
15 - Lei 4.751, sobre o Sistema de Ensino e Gesto Democrtica do Sistema de Ensino Pblico do DF, de 07 de fevereiro de 2012.
47
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
16 - Resoluo CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002. Que Institui Diretrizes Operacionais para a Educao Bsica nas Escolas do
Campo.
17 - Cf. Proposta Pedaggica Professor Carlos Mota.
aos estudantes que participem da gesto da sala, da escola e da sociedade,
vivenciando desde o interior da escola formas democrticas de trabalho que
marcaro profundamente sua formao.
As Diretrizes Operacionais da Educao do Campo
16
definem, no art.
11, que os mecanismos de gesto democrtica [...] contribuiro diretamente:
I - para a consolidao da autonomia das escolas e o fortalecimento
dos conselhos que propugnam por um projeto de desenvolvimento que torne
possvel populao do campo viver com dignidade;
II - para a abordagem solidria e coletiva dos problemas do campo,
estimulando a autogesto no processo de elaborao, desenvolvimento e
avaliao das propostas pedaggicas das instituies de ensino.
A escola e a sala de aula so uma construo histrica, cujas funes
foram pautadas na ideia do acmulo de riqueza de uma classe por meio de
outra. Para tanto, a escola pblica do DF atua para que a funo social da
escola seja a construo de outra sociedade
17
, quando instaura procedimentos
para que a legislao seja cumprida. Segundo as mesmas Diretrizes, em
seu Pargrafo nico, a identidade da escola do campo definida pela
sua vinculao s questes inerentes sua realidade, ancorando-se na
temporalidade e saberes prprios dos estudantes, na memria coletiva que
sinaliza futuros, na rede de cincia e tecnologia disponvel na sociedade,
sem deixar de fora os movimentos sociais e a defesa de projetos vinculados
s solues exigidas, com vistas garantia da qualidade social da vida
coletiva no pas.
As Diretrizes apontam outra concepo importante que a Educao
do Campo nos oferece: a ligao da escola com o meio, com a realidade.
Isto torna a escola viva, inserida na atualidade e tendo o trabalho como
princpio educativo, que fornece tambm as bases para os processos
pedaggicos participativos. Trabalho compreendido como objeto de estudo,
como mtodo, como fundamento da vida. No se trata da compreenso de
trabalho dada pela perspectiva capitalista, como emprego assalariado, mas
do trabalho como atividade humana construtora do mundo e de si mesmo,
como vida. Tomar o trabalho como princpio educativo tomar a prpria vida
(atividade humana criativa) como princpio educativo (FREITAS, 2010), rdua
tarefa no contexto de uma escola que nasceu separada do trabalho, mas que
a Secretaria de Estado de Educao do Distrito Federal (SEEDF) pretende
enfrentar e construir com o trabalho dedicado e corajoso dos profissionais
que atuam nas atuais escolas rurais da rede.
48
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Uma das experincias que tem orientado a Educao do Campo em
alguns Estados
18
aquela realizada por Pistrak
19
e atualizada por Freitas
20
que apresenta a proposta dos Complexos de Estudos como estratgia
para superar a fragmentao das disciplinas, articulando-as para explicar
a realidade e transform-la por meio do trabalho. O Complexo de Estudo,
construo terica da didtica socialista, um espao onde se pratica a
to desejada articulao entre a teoria e a prtica, pela via do trabalho
socialmente til. No , portanto, mtodo, mas procedimento orientador
para a ao do coletivo da escola, tomando o trabalho socialmente til como
elo, como conexo entre teoria e prtica dada pela materialidade da vida.
Desta forma, a interdisciplinaridade garantida pela materialidade da prtica
em suas mltiplas conexes e no via teoria, como exerccio abstrato.
Se falarmos de uma escola ligada vida, h que se notar que a vida do
campo se difere da vida da cidade e que os sujeitos do campo tm matrizes
formativas prprias. Trabalho, terra, cultura, histria, vivncias de opresso,
conhecimento popular, organizao coletiva e luta social so matrizes dos
sujeitos do campo (CALDART, 2004; BARBOSA, 2012).
No mais possvel imaginar que a cidade o lugar do avano e o
campo, o lugar de atraso a ser atualizado pela cidade ou pelo agronegcio. A
cidade tem suas singularidades assim como o campo; portanto, no se trata
apenas de reconhecer que h uma identidade para os sujeitos do campo,
mas que h toda uma forma diferente de viver que produz relaes sociais,
culturais e econmicas distintas no campo (FREITAS, 2010). Ao elegermos
a vida como princpio educativo, os processos e os contedos educativos
no campo devem condizer com esse princpio, ou seja, preciso elaborar
um currculo para as escolas do campo que vincule os contedos vida do
campo, currculo este que dever ser construdo, em mdio prazo, em um
processo democrtico e participativo com toda a rede.
Considerando que [...] so as relaes sociais que a escola prope,
atravs de seu cotidiano e jeito de ser, o que condiciona o seu carter
formador, muito mais do que os contedos discursivos que ela seleciona para
seu tempo especfico de ensino (CALDART, 2004, p.320). Na perspectiva
da Educao do Campo, o currculo deve desenvolver as bases das cincias a
partir de conexes com a vida, permitindo ainda que entrem no territrio do
conhecimento legtimo as experincias e saberes dos sujeitos camponeses,
18 - Os estados do Paran e Cear tm propostas curriculares orientadas pelos Complexos de Estudo.
19 - M. Pistrak, Pedagogo socialista reconhecido pela experincia na implantao da Escola do Trabalho, relatada no livro
Fundamentos da Escola do Trabalho, publicado pela editora Expresso Popular, em 2000.
20 - Luiz Carlos Freitas, docente da UNICAMP, tem livros e artigos escritos sobre o tema e tem orientado Estados e universidades
na construo de Complexos.
49
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
para que sejam reconhecidos como sujeitos coletivos de memrias, histrias
e culturas, fortalecendo as identidades quilombola, indgena, negra, do
campo, de gnero.
A princpio, pressupe reconhecer que nos currculos, territrios to
fechados, normatizados e avaliados, nem todo conhecimento tem lugar, nem
todos os sujeitos e suas experincias e leituras de mundo tm vez (ARROYO,
2011). So, portanto, territrios em disputa. Alguns coletivos sociais, tnicos,
de gnero, das periferias, do campo foram segregados e sua histria cultural
e intelectual, decretada inexistente. A estes, [...] no apenas foi negado e
dificultado seu acesso ao conhecimento produzido, mas foram despojados
de seus conhecimentos, culturas, modos de pensar o mundo e a histria,
ou seja, suas formas de pensar o mundo no foram consideradas, tampouco
incorporadas [...] no dito conhecimento socialmente produzido e acumulado
que as diretrizes curriculares legitimam como ncleo comum (Idem, p. 14).
Neste Currculo, assumimos a tarefa de colocar em dilogo sujeitos at
ento mantidos na invisibilidade pelo paradigma dominante, compreendendo
que o currculo a mediao desse dilogo, que sua lgica estruturante,
contedos e mtodos devem ser tomados como meios, isto , mediadores
da relao pessoal e social entre educandos, educadores e comunidade.
(BARBOSA, 2012)
Educao do Campo na prtica
Para a Educao do Campo, este Currculo prope que as escolas
considerem o seguinte caminho:
1. Realizar um conjunto de inventrios sobre a realidade atual, com
o objetivo de identificar as fontes educativas do meio. Como a vida no
a mesma em todo lugar, os inventrios precisam ser elaborados por cada
escola, convertendo-a, assim, em uma pequena instituio que pesquisa e
produz conhecimento de carter etnogrfico sobre seu entorno, sua realidade
atual, apropriando-se, portanto, de sua materialidade, da vida, da prtica
social (FREITAS, 2010).
2. O inventrio deve identificar as lutas sociais e as principais
contradies vivenciadas na vida local, nacional e mundial; as formas de
organizao e de gesto dentro e fora da escola em nvel local, nacional e
mundial; as fontes educativas disponveis na vida local, no meio, de carter
natural, histrico, social e cultural, incluindo a identificao das variadas
agncias educativas existentes no meio social local; as formas de trabalho
socialmente teis.
50
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Este Currculo o primeiro passo do caminho proposto, para que seja
possvel elaborar, a partir dos projetos poltico-pedaggicos das escolas, os
Complexos de Estudos, sem ferir as Diretrizes Curriculares Nacionais. Esse
processo dever ocorrer em dois nveis: no primeiro, para o conjunto de
escolas do campo do DF e no segundo nvel, para a escola no local. O
planejamento ocorrer no mbito de cada escola, garantindo sua autonomia
e sua vinculao a seu meio local e regional.
2.4.2 Cidadania e Educao em e para os Direitos Humanos
Um dia eles maltrataram os negros
e eu no fiz nada
porque no era ou no me sentia negro.
Noutro dia, criticaram os adeptos daquela religio
e eu no fiz nada,
pois no professava aquela crena.
Esses dias perseguiam os gays
e tambm no fiz nada
porque nem eu nem os meus entes amados so gays.
Depois os vi condenando os pobres, os miserveis,
os que se deixaram arrastar pelo crime, os fracos e
vulnerveis
e mais uma vez no fiz nada, pois no me identifico
com nenhum deles.
Hoje esto me perseguindo
e j no posso fazer nada,
pois estou sozinho!
(Texto construdo com base em poesia de Bertold
Brecht e semelhante poesia de Martin Niemller).
Cidadania e direitos humanos so termos utilizados algumas vezes
para expressar uma mesma realidade, poltica ou ao. Aqui tomamos
a diferenciao feita por Benevides (s/d), pois partimos dos mesmos
pressupostos que a autora utiliza para construir as diferenas e proximidades
dessas categorias.
A cidadania uma ideia fundamentada em uma ordem jurdico-
poltica, ou seja, o cidado membro de um determinado Estado e seus
direitos ficam vinculados a decises polticas. Por isso, os direitos de cidadania
so variveis em funo de diferentes pases e culturas e determinados por
51
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
diversos momentos histricos. No entanto, jamais podem estar dissociados
dos direitos humanos em sociedades democrticas.
A universalidade uma caracterstica fundamental dos direitos
humanos, pois o que um direito humano aqui o ser tambm em outro
pas. So ainda naturais, em funo de no existirem por criao de uma lei
para serem exigidos, reconhecidos, protegidos ou promovidos.
Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos
humanos so tambm histricos, pois sofreram alteraes, mudanas e
at mesmo rupturas em perodos histricos diferentes e at em pases que
os incorporaram tardiamente em suas legislaes, em relao a outros.
Benevides (s/d), seguindo as orientaes da II Conferncia de Direitos
Humanos da ONU, em Viena, 1993, explicita as caractersticas dos direitos
humanos como indivisveis e interdependentes. Nessa perspectiva, portanto
no se trata de utilizar os dois termos para identificar os mesmos processos
de organizao da sociedade, mas de especificar as caractersticas de cada
um para construir a relao com o tema aqui proposto.
Destaca-se o desdobramento da cidadania em trs tipos de direito: os
civis, considerados fundamentais e, portanto, ligados vida, liberdade,
propriedade e igualdade diante das leis; os polticos, referentes participao
do cidado no governo e nas aes da sociedade civil, especialmente na
possibilidade de votar e ser votado e os sociais, ligados riqueza coletiva
e materializados pelo direito educao, ao trabalho, sade e outros
benefcios. Essa distino adotada por vrios autores, porm teve seu
desenvolvimento inicial construdo por Marshall (1967).
Um ponto fundamental a vinculao da construo da cidadania, do
ponto de vista histrico, com o desenvolvimento do Estado-nao, ou seja,
uma pessoa se torna cidad a partir do momento que existe um sentimento
de pertena a um Estado ou nao e assim surge a lealdade quela instituio
e ainda a identificao com um povo. Portanto, a construo da cidadania
tem a ver com a relao entre as pessoas e o Estado. Essa dimenso histrica
tem suas origens na Revoluo Francesa (SINGER, 2005).
No livro organizado por Pinsky (2005) sobre a histria da cidadania, foi
construda uma tese sobre os diferentes momentos ou marcas da cidadania
e trs revolues fundamentais para a abordagem feita nesse estudo: a
Revoluo Inglesa de 1640, a Revoluo Americana de 1776 e a prpria
Revoluo Francesa de 1789 (SINGER, 2005).
A Revoluo Inglesa trouxe como contribuio para a construo dos
direitos de cidadania a tradio liberal que representou um grande avano
na conquista dos direitos civis at ento desconsiderados pelos Estados em
52
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
suas organizaes jurdicas e polticas. Essa tradio ressaltava as liberdades
individuais e especialmente a possibilidade de um cidado ser proprietrio,
o que gerou um modelo de cidadania excludente, pois criou dois grupos de
cidados: os que tinham posses e os despossudos de bens ou propriedades,
de acordo com Mondaini (2005).
A Revoluo Americana de 1776 apresenta outra dimenso da
cidadania intimamente ligada liberdade, porm busca um equilbrio entre o
individualismo e a vida em sociedade. A Declarao de Independncia (1776)
foi um instrumento importante para a consolidao de uma cidadania de
base nacionalista e que props a obteno de uma igualdade poltica para
um determinado grupo.
A ideia do dever nacional criava a mentalidade de que era
responsabilidade de todos espalhar pelo mundo aquilo que era considerado
por um povo ou nao o modelo de sociedade, ou seja, a criao de
mecanismos de defesa do indivduo perante o Estado e ainda de outros
indivduos, gerando assim uma imposio de uma nao sobre as demais.
Nessa perspectiva, o sistema torna-se autoconfirmatrio (KARNAL,
2005), pois o problema nunca est no sistema, mas na falta de capacidade
de adaptao de alguns e no mau uso da liberdade concedida. Portanto, a
proposta passa a ser universalizante e redentora, por isso deve submeter o
mundo a esse modelo que se torna o nico possvel.
A Revoluo Francesa representou a culminncia de um processo
histrico que teve como protagonistas os trabalhadores que no tinham
propriedade e por isso lutaram no somente pelos direitos polticos, mas
especialmente pelos sociais. A Declarao dos Direitos do Homem e do
Cidado (1789) deu o carter de universalidade Revoluo, mesmo que esse
preceito no tenha atingido sua totalidade naquele perodo. Odalia (2005)
afirma ainda que, quando se trata de cidadania, no se pode desconsiderar
que essa ideia foi construda historicamente a partir da Revoluo Inglesa,
passou pela Americana e ainda pela Francesa e teve seu apogeu em funo
da Revoluo Industrial, pois esta trouxe uma nova classe social para a cena
poltica, o proletariado.
Retomando a abordagem dos direitos sociais de cidadania nascidos
da Revoluo Francesa, cabe destacar que esses direitos no possuem um
carter universal, so destinados a uma classe especfica e no momento da
incluso do proletariado como uma classe social, esses direitos destinaram-
se a esse grupo social.
Uma anlise proposta por Santos (2008) em relao cidadania
inclui a discusso sobre o papel do Estado e do Mercado e ainda sobre o
53
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
processo de regulao e de emancipao. O primeiro momento da cidadania
corresponde ao liberalismo e enfatizou os direitos cvicos e polticos,
tendo a prevalncia do mercado sobre o Estado. J o segundo momento
foi caracterizado pelo capitalismo organizado e ressaltou os direitos sociais
por meio de um sentimento de pertena igualitria, gerando o modelo do
Estado-providncia. Houve um embate entre mercado e Estado, o que gerou
uma priorizao da regulao sobre a emancipao. O autor prope uma
nova concepo de cidadania que tenha como alicerce a emancipao e
se contraponha a solidariedade social baseada na prestao abstrata de
servios burocrticos e trabalhe com a solidariedade concreta que contemple
a autonomia e o autogoverno, a descentralizao, a democracia participativa
e o cooperativismo entre outros movimentos prprios de outra organizao
poltica e social do Estado.
A organizao poltica e social baseada na cidadania um avano
importante para a incluso de minorias nas polticas sociais, porm no
suficiente para garantir uma convivncia entre grupos considerados maiorias e
minorias, sendo necessria a introduo de outro nvel de direitos, ou seja, os
direitos humanos, de acordo com a perspectiva apresentada anteriormente,
que estabelece a diferena entre cidadania e direitos humanos.
Nessa perspectiva e considerando os contextos sociais ainda
demasiadamente violadores de direitos, a educao em e para os Direitos
Humanos vem colocando-se como importante resposta s lacunas deixadas
pela fragilizao de antigas e importantes propostas polticas emancipadoras
(SANTOS, 2001).
iminente o risco de apreenses simplistas e rasas que consideram a
temtica dos Direitos Humanos como exclusiva para a defesa de criminosos
ou como se dela s precisassem as populaes em estgios crticos de risco
e ou vulnerabilidade. Contudo, conforme prope a expresso, os direitos
humanos so para todos os seres humanos e, por desdobramento, para
todas as formas de vida, assim como o que as sustentam. Depreende-se
da sua relevncia para a educao e para todos os sujeitos nela envolvidos.
do conhecimento de todos que a luta por direitos na sociedade
brasileira teve e tem a importante militncia dos educadores. Bons exemplos
disso so os movimentos de reabertura democrtica e a histria de lutas dos
profissionais da educao do DF, no sentido de garantir cada um dos direitos
que se usufrui no exerccio desse ofcio.
Os profissionais de educao da Secretaria de Estado de Educao do
Distrito Federal so agentes pblicos de grande importncia para promover,
garantir, defender e possibilitar a restaurao de direitos dos milhares de
54
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
cidados brasilienses - a grande maioria de nossos alunos em estgio peculiar
de desenvolvimento, que compem todos os dias o universo de nossas
escolas. E preciso que se relembre: muitos deles com severos histricos
de violao e negao de direitos. Contraditoriamente, muitos profissionais
da educao, ante o quadro de risco e ou vulnerabilidade vividos e sem
encontrarem o devido respaldo nas instituies, reforam discriminaes,
excluses e sofrimentos em seus espaos de atuao, reproduzindo um
crculo vicioso de sofrimentos em ressonncia.
A Escola, em seu privilegiado espao de promoo do Estado
Democrtico de Direito, no pode exercer uma prtica negativa em relao
ao que defende e, assim, colocar em xeque seu papel transformador da
realidade, pois conforme vem sendo amplamente discutido em inmeras
convenes nacionais e internacionais, a educao um direito fundamental
que contribui para a conquista de todos os demais direitos humanos. Da a
importncia de termos a Educao em e para os Direitos Humanos como
eixo transversal do Currculo da Educao Bsica da rede pblica do DF.
Educao em e para os Direitos Humanos: concepo e marcos legais
A relevncia dessa discusso tambm defendida pelo Ministrio
da Educao que, por meio da Resoluo 01/2012, em consonncia s
Diretrizes Nacionais de Educao em Direitos Humanos do Conselho Nacional
de Educao (CNE Parecer 08/2012) deliberou a educao em direitos
humanos como um dos eixos fundamentais do direito educao e sua
insero no currculo da Educao Bsica.
Nessas Diretrizes, os direitos humanos so tidos como o resultado da
luta pelo reconhecimento, realizao e universalizao da dignidade humana.
Dentro dessa concepo, a educao escolar ocupa lugar privilegiado por
constituir-se uma das mediaes fundamentais, tanto para o acesso ao legado
dos direitos humanos, quanto para a transformao social, em particular na
sociedade brasileira, marcada por profundas contradies que, historicamente,
ameaam e violam os direitos civis, polticos, sociais, econmicos, culturais,
ambientais, fundamentais, bsicos, individuais, coletivos ou difusos.
Na mesma perspectiva, o Plano Nacional de Educao em Direitos
Humanos (BRASIL, 2007) define a educao em direitos humanos como um
processo sistemtico e multidimensional que orienta a formao do sujeito
de direitos, articulando as seguintes dimenses:
a) Apreenso de conhecimentos historicamente construdos sobre direitos
humanos e sua relao com os contextos internacional, nacional e local.
55
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
b) Afirmao de valores, atitudes e prticas sociais que expressem a
cultura dos direitos humanos em todos os espaos da sociedade.
c) Formao de uma conscincia cidad capaz de se fazer presente em
nveis cognitivo, social, cultural e poltico.
d) Desenvolvimento de processos metodolgicos participativos
e de construo coletiva, utilizando linguagens e materiais didticos
contextualizados.
e) Fortalecimento de prticas individuais e sociais que gerem aes
e instrumentos em favor da promoo, proteo e defesa dos direitos
humanos, bem como reparao das violaes.
Sugere-se o estudo cauteloso e pormenorizado dessas dimenses, de
forma a contempl-las em toda a organizao do trabalho pedaggico.
Nessa mesma linha, no campo da Educao Bsica, o Plano orienta que
a Educao em Direitos Humanos v alm de uma aprendizagem cognitiva,
incluindo o desenvolvimento social e emocional de quem se envolve no
processo de ensino-aprendizagem. Reitera que a educao deve observar
metodologias e dispositivos que possibilitem uma ao pedaggica progressista
e emancipadora, voltada para o respeito e valorizao da diversidade, para os
conceitos de sustentabilidade e de formao da cidadania ativa.
A cidadania ativa pode ser entendida como o exerccio que possibilita
a prtica sistemtica dos direitos conquistados, bem como a ampliao de
novos direitos, devendo contribuir para a defesa da garantia do direito
educao bsica pblica, gratuita e laica para todas as pessoas, inclusive
para os que a ela no tiveram acesso na idade e condies prprias. ampla
a discusso nos dias atuais sobre o direito aprendizagem, como um dos
maiores desafios da Escola.
Essas reflexes foram retomadas e reforadas nas Diretrizes Nacionais
de Educao em Direitos Humanos, Resoluo 08/2012, segundo as quais
o escopo principal da Educao em Direitos Humanos a formao tica,
crtica e poltica.
Por formao tica compreende-se a promoo de atitudes orientadas
por valores humanizadores, como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade,
justia e paz, reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parmetro
para a reflexo dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional.
A construo de uma atitude crtica diz respeito ao exerccio de juzos
reflexivos sobre as relaes entre contextos sociais, culturais, econmicos e
polticos, promovendo prticas institucionais coerentes com os Direitos Humanos.
A formao poltica deve estar pautada numa perspectiva emancipatria
e transformadora dos sujeitos, esforando-se por promover o empoderamento
56
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
de grupos e indivduos, situados margem de processos decisrios e de
construo de direitos, favorecendo sua organizao e participao. Esses
aspectos tornam-se possveis por meio do dilogo e de aproximaes entre
diferentes sujeitos biopsicossociais, histricos e culturais, bem como destes
em suas relaes com o Estado.
Direitos Humanos na prtica escolar
A massificao/democratizao do acesso escolarizao
21
trouxe
de uma forma mais veemente s discusses nos ambientes educacionais
a questo da diversidade de grupos e sujeitos historicamente excludos do
direito educao e, de um modo geral, dos demais direitos, o que torna
urgente a adoo de novas formas de organizao educacional, diversificadas
metodologias de ensino-aprendizagem e de atuao institucional, buscando
superar o paradigma homogeneizante que se coloca como limitador do
direito aprendizagem.
Almeja-se que as pessoas e ou grupo social que comungam do espao
escolar se reconheam como sujeitos de direitos, capazes de exerc-los e
promov-los ao mesmo tempo em que respeitem os direitos do outro. Busca-
se, portanto, desenvolver a sensibilidade tica nas relaes interpessoais e
com todas as formas de vida. Nesse horizonte, a finalidade da Educao em
e para os Direitos Humanos a formao na e pela vida e convivncia.
Dada a relevncia j anunciada dessas questes, compreende-
se a necessidade dessa temtica como eixo tambm do projeto poltico-
pedaggico das escolas, haja vista que este orienta o planejamento, o
desenvolvimento e a atuao no exerccio cotidiano dos direitos humanos
no ambiente escolar espao de vida e de organizao social, poltica,
econmica e cultural, que deve adequar-se s necessidades e caractersticas
de seus sujeitos, assim como ao contexto nos quais so efetivados. Esse
assinalamento se faz necessrio porque o projeto poltico-pedaggico no se
dissocia do Currculo, dada a transversalidade do conjunto de aes nas quais
o currculo se materializa.
Trata-se, portanto, de uma proposta que articula dialeticamente
igualdade e diferena, pois hoje no podemos mais pensar na afirmao de
direitos humanos a partir de uma concepo de igualdade que no incorpore
o tema do reconhecimento das diferenas, o que supe lutar contra todas
as formas de preconceito e discriminao. Ou, na popular frase de Santos
(1999, p. 44): temos o direito de ser iguais sempre que a diferena nos
21 - Sobre esta questo, sugerem-se os estudos de Mnica Peregrino e de Marlia Pontes Sposito.
57
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos
descaracteriza.
Direitos humanos, escola e desafios
Alm dos grupos historicamente excludos que j militam na defesa
dos direitos humanos, como o caso de negros, mulheres, populao LGBT
(Lsbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), pessoas com deficincia,
entre outros, h ainda aqueles cuja discriminao to grande que mal
conseguem ser ouvidos pelo restante da sociedade, como o caso de
populaes em situao de rua, em situao de acolhimento institucional, em
regime prisional, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas,
entre tantos outros.
Diante disso, evidencia-se a necessidade e importncia de tornar a
escola um espao de fortalecimento da participao individual e coletiva,
que reconhea e valorize todos os grupos. A Educao em e para os Direitos
Humanos na Escola , assim, uma forma de reposicionar compromissos
nacionais com a fomentao de sujeitos de direitos e de responsabilidades,
podendo influenciar na construo e consolidao da democracia.
A vivncia da Educao em e para os Direitos Humanos na Educao
Bsica deve ter o cotidiano como referncia a ser analisado, compreendido e
modificado. Isso requer o exerccio da cidadania ativa de todos os envolvidos
com a Educao Bsica em todos os tempos e espaos na escola, no apenas
em espaos e tempos privilegiados para o exerccio de consagrados rituais do
exerccio da democracia.
Assim, a prtica escolar deve ser orientada para a Educao em e para
os Direitos Humanos, assegurando seu carter transversal e a relao dialgica
entre os diversos atores-autores sociais. Sobretudo estudantes devem ser
estimulados para serem protagonistas da construo de sua educao, com o
incentivo e ampliao de espaos de participao formal e informal. comum
a crena equivocada de que os dispositivos formais da gesto democrtica
(eleio de diretores e vice-diretores, de pares para o Conselho Escolar) sejam
por si s garantidores de uma participao ativa, autorizadora e emancipatria
dos sujeitos educativos. A democratizao deve manifestar-se em todas as
relaes que se estabelecem no cotidiano escolar.
Linhas de atuao da Educao em Direitos humanos
Para efeito didtico, dentro do trabalho que hoje norteia a Secretaria de
58
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Estado de Educao do DF, possvel pensar a Educao em e para os Direitos
Humanos fundamentada em quatro grandes linhas que se relacionam entre si:
a) Educao para a Promoo, Defesa, Garantia e Resgate de
Direitos Fundamentais. Apesar da Declarao Universal dos Direitos
Humanos ter sido elaborada em 1948, foi somente aps a segunda metade
do sculo XX que os movimentos sociais passaram a dar visibilidade
necessidade de reconhecimento de toda pessoa humana como sujeito social.
Assim, a Educao para a Promoo, Defesa, Garantia e Resgate de Direitos
Fundamentais busca sensibilizar e mobilizar toda a comunidade escolar para
a importncia da efetivao dos direitos humanos fundamentais, respaldados
pela Declarao Universal dos Direitos Humanos (1948) e pela Constituio
Federal (1988), entre outros marcos legais. Incorre-se, portanto, que a
escola no somente um espao de afirmao dos direitos humanos, mas
tambm de enfrentamento s violaes de direitos que acarretam violncias
fsicas e simblicas contra crianas, adolescentes e grupos historicamente
discriminados pela maioria da sociedade.
b) Educao para a Diversidade. Os fenmenos sociais como racismo,
machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, depreciao de pessoas que
vivem no campo, entre outras discriminaes a grupos historicamente
marginalizados, materializam-se fortemente no espao escolar, acarretando
um ciclo de excluso e de violao de direitos desses sujeitos. Visando
ao enfrentamento dessa realidade, a Educao para a Diversidade busca
implementar aes voltadas para o dilogo, reconhecimento e valorizao
desses grupos, tais como negros, mulheres, populao LGBT (lsbicas,
gays, bissexuais, travestis, transexuais), indgenas, moradores do campo,
entre outros, a partir de linhas especficas de atuao como a Educao
das Relaes tnico-Raciais, Educao do Campo, Educao em Gnero e
Sexualidade, Ensino Religioso, entre outros.
c) Educao para a Sustentabilidade. Implementa atividades
pedaggicas por meio de saberes populares, cientficos e de interao
com a comunidade, que visem a uma educao ambiental baseada no
ato de cuidar da vida em todas as fases e tipos. Busca-se oportunizar a
professores e estudantes a construo de uma sociedade igualitria que
atenda as necessidades do presente e conserve recursos naturais para as
geraes futuras. Nesse sentido, so exemplos de subtemas da Educao
para a Sustentabilidade: produo e consumo consciente; qualidade de vida;
alimentao saudvel; economia solidria; agroecologia; ativismo social;
cidadania planetria; tica global; valorizao da diversidade, entre outros.
59
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
d) Formao Humana Integral
22
. Em resposta ao paradigma
simplificador (MORIN, 1996), compreende-se a indissociabilidade entre
a Educao em Direitos Humanos e a concepo de Educao Integral,
objetivando compreendermos como a que se predispe a ampliar horizontes
da formao humana para alm da apreenso cognitiva da memorizao /
(re) produo de conhecimentos cientficos acumulados pela humanidade,
algo que extrapola a ampliao de tempos e espaos no ambiente escolar.
No possvel uma educao que se predisponha a ser integral, sem que
se considerem as bandeiras que os movimentos sociais vm fazendo dos
Direitos Humanos.
Essas quatro linhas de atuao devem contar no somente com uma
formao terica, mas tambm com prticas pedaggicas que contribuam
para novas formas de relaes sociais. Por isso, a formao para os direitos
humanos deve perpassar as seguintes etapas:
1) Sensibilizao sobre a importncia da promoo, defesa e garantia
dos direitos humanos.
2) Percepo dos problemas sociais, comunitrios e familiares que
ferem nossos direitos humanos.
3) Reflexo crtica acerca desses problemas na tentativa de
compreender por que eles existem e como solucion-los.
4) Ao por meio do estmulo participao, inclusive das crianas e
adolescentes.
Muitas so as aes j realizadas na rea de Cidadania e da Educao
em Direitos Humanos na rede pblica de ensino do DF. O desafio fortalecer
e potencializar essas iniciativas, de modo que no continuem como atividades
isoladas, realizadas no mbito de algumas escolas ou por alguns poucos
profissionais da educao, mas um movimento conjunto, que envolva toda
a comunidade escolar na construo de uma cultura baseada no respeito
dignidade do ser humano.
2.4.3 Educao para a Sustentabilidade
A histria humana marcada pela relao entre os seres humanos e o
meio ambiente, como o domnio do fogo e o desenvolvimento da agricultura.
Desde o princpio, vrios elementos da natureza no dominados pela espcie
humana tinham efeitos ameaadores, tais como chuva, seca, sol, ventos,
rios, entre outros. Os grupos humanos atribuam esses fenmenos naturais
22 - Concepo da Resoluo n 2, 30/01/2012, Conselho Nacional de Educao.
60
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
ao dos deuses, e para agradar e acalm-los ofereciam rituais e oferendas.
Naquele momento, perceptvel a reverncia humana s foras naturais
incontrolveis, bem como a sacralizao destes elementos.
Com a inveno da propriedade privada, o planeta passou a ser
desbravado e grupos foram escravizados. Mais tarde, com o advento do
modo de produo primitivo, aqueles que no aderiam a comportamentos
religiosos e culturais dos grupos hegemnicos eram considerados hereges
e poderiam, sob o pretexto de serem animais selvagens, ser dominados,
escravizados e exterminados.
Os comandantes dos grupos religiosos, das naes e os detentores
do conhecimento das tcnicas eram tambm considerados prepostos dos
desgnios divinos e possuam poderes determinantes sobre a liberdade,
a vida e as relaes comerciais. O ser humano ocidental passou a
considerar os elementos naturais distanciados das relaes com o divino e,
consequentemente, a demonizao do selvagem era uma atitude comum.
As indstrias surgiram no fim do sculo XVIII e incio do sculo XIX,
poca da primeira Revoluo Industrial, causando o aumento da demanda
por recursos da natureza e a intensificao do uso da mo de obra dos
grupos humanos dominados (POCHMANN, 2001). A mquina a vapor e as
ferrovias precisavam ser abastecidas com muita lenha e matria-prima. Com
isso, o resultado foi o uso desmedido dos elementos naturais na Europa,
Amrica do Norte e sia, recursos tidos como infinitos.
Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como princpio de
felicidade, em detrimento de populaes que se aglomeravam entre os altos
ndices de desemprego e pobreza. As cidades comearam a inchar e a populao
planetria cresceu como nunca; as reas agricultveis foram expandidas e as
florestas europeias, norte-americanas e asiticas foram dizimadas.
Grupos sociais no privilegiados, o proletariado, por exemplo,
tornaram-se descontentes com sua situao socioeconmica e surgiram as
revolues. A Revoluo Francesa foi um marco importante para as novas
relaes humanas e para os direitos sociais, elencando igualdade, liberdade
e fraternidade como princpios. Nessa poca surgiu o movimento naturalista
e o ser humano retomou a sacralizao dos elementos naturais. A natureza
selvagem passou a ser vista como encantadora e digna de contemplao,
surgindo os primeiros parques ambientais preservacionistas, como o Parque
Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos.
No sculo XX, houve o fim da escravido, a globalizao intensificada,
o desenvolvimento tecnolgico expandiu a produo agrcola e iniciou-se o
pensamento ambientalista. Esse momento histrico influenciou as relaes
61
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
humanas e o uso dos recursos naturais (TORRES, 2011, p. 110). Os governos
comearam a instituir nos marcos legais os princpios da liberdade, no
capitalismo, e da igualdade, no socialismo.
No entanto, o advento da I e II Guerras Mundiais demonstrou a
fragilidade das relaes entre os seres humanos, fato que fez surgir a
Organizao das Naes Unidas - ONU e a Declarao Universal dos Direitos
Humanos, em 1945 e 1948 respectivamente, com o objetivo de buscar
novos modelos de mediao de conflitos e de respeito vida humana.
Na dcada de 1960, as questes ambientais passaram a ser melhor
percebidas pela humanidade, momento em que foi lanado o importante
livro: Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, em 1962, e realizada a
Conferncia da Biosfera em Paris, em 1968 (DUARTE; WEHRMANN, 2002,
p. 11-12).
A partir de ento, correntes cientficas comearam a entender o
planeta de forma sistmica. Ou seja, o mtodo reducionista e mecanicista
da Cincia comeou a ser questionado e em seu lugar, alguns autores, como
Capra, propuseram que estudos sobre o funcionamento dos organismos
fossem realizados a partir de uma concepo sistmica, onde o mundo
passasse a ser visto em termos de relaes e de integrao (1986, p.259-260).
Com isto, na dcada de 1980 surgiu um novo conceito, o de
Desenvolvimento Sustentvel. Esse conceito assumiu grandes propores
aps a publicao do livro Nosso Futuro Comum. A bibliografia, tambm
conhecida como relatrio Brundtland, foi publicada em 1987, a partir
do trabalho realizado pela Comisso Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, rgo vinculado ONU.
O conceito de desenvolvimento sustentvel conduz ao raciocnio de
um desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de
forma equilibrada. Como explica Sachs: devemos nos esforar por desenhar
uma estratgia de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentvel,
economicamente sustentada e socialmente includente [...] (2004, p.118).
Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatrio
Brundtland e com o lanamento do primeiro Relatrio do Desenvolvimento
Humano em 1990, houve a ruptura com o pensamento de que o crescimento
econmico poderia sanar todos os problemas do mundo moderno. At ento,
havia uma noo de desenvolvimento como sendo a mesma de crescimento
econmico (VEIGA, 2006).
A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem
a refletir sobre o melhor tipo de desenvolvimento. Exclua-se a ideia do
crescimento zero, utilizado outrora por defensores do meio ambiente e
62
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
moradores de pases desenvolvidos. Neste sentido, o Brasil promoveu a
Conferncia das Naes Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
- CNUMAD no Rio de Janeiro em 1992, tambm conhecida como Rio-92 ou
Eco-92.
Esse evento reuniu representantes de diversas naes e de vrias
organizaes da sociedade civil e, entre outros resultados, criou a Agenda 21.
O documento gerado tratava de praticamente todas as grandes questes,
dos padres de produo e consumo luta para erradicar a pobreza no
mundo e s polticas de desenvolvimento sustentvel para o sculo XXI
(NOVAES, 2003, p.324).
Em decorrncia da Rio-92, surgiu tambm o Tratado de Educao
Ambiental para Sociedades Sustentveis e Responsabilidade Global,
documento formulado pela sociedade civil com 16 princpios e 22 diretrizes,
indicando a necessidade de [...] estimular a formao de sociedades
socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si
relao de interdependncia e diversidade (2012). As sociedades sustentveis
devem buscar desenvolver suas potencialidades locais, aproveitando
os conhecimentos tradicionais e respeitando o equilbrio ecossistmico,
superando o modo de produzir e reproduzir do capitalismo.
Mesmo com os problemas para a implantao da Agenda 21, foi
reconhecido que as comunidades locais, baseadas em suas tradies
culturais e na cooperao, poderiam facilitar e criar uma alternativa para o
modelo de sociedade atual, fundado na superproduo e no superconsumo.
Com isto, passa-se a buscar um novo modelo de humanidade, que atravs
do reencantamento das prticas sociais locais/globais e imediatas/diferidas
plausivelmente possam conduzir do colonialismo solidariedade (SANTOS,
2002, p.116).
O Estado tem um papel fundamental para que a globalizao se torne
mais simtrica e justa. Entre outras coisas, o poder pblico tem a funo de
harmonizar metas sociais, ambientais e econmicas, buscando um equilbrio
entre diferentes sustentabilidades (social, cultural, ecolgica, ambiental,
territorial, econmica e poltica) [...] (SACHS, 2004, p.11).
Assim, as dimenses social, cultural, ecolgica, ambiental, territorial,
econmica, poltica e espiritual devem ser observadas em todo momento do
processo educativo. A SEEDF compreende que a juno dessas dimenses
encaminha para uma cultura da sustentabilidade e para a criao de um
novo modelo de sociedade global, da cidadania planetria.
A cidadania planetria um conceito que nos remete a uma
responsabilidade que ultrapassa as fronteiras estabelecidas pela Geografia,
63
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
assim como os efeitos ambientais percebidos a partir do acidente de Chernobil
/Ucrnia, implica uma tica global (GADOTTI, 2008, p. 32). O entendimento
de que as aes locais podem gerar efeitos globais, assim como os riscos
so globais e as solues esto nas atitudes individuais / locais, unificam a
percepo integradora e ecossistmica entre os seres humanos e destes com
todas as outras formas de vida e seus habitats.
Em 2000, a ONU aprovou um documento intitulado Carta da Terra,
elaborado por mais de 100 mil pessoas, de 46 naes. Esta Declarao de
Responsabilidades Humanas parte de uma viso holstica para indicar que
estamos todos conectados e devemos respeitar e cuidar da comunidade da
vida; resguardar a integridade ecolgica; buscar a justia social e econmica;
e defender a democracia, a no violncia e a paz, como princpios para
o equilbrio da espcie humana sobre o Planeta Terra (ROCHA LOURDES,
2009, p.68-69).
Morin (2000) convoca os educadores para buscarem compreender
e questionar a origem dos processos de construo de conhecimentos,
indicando que as aprendizagens no podem ser compartimentadas em
disciplinas, mas analisadas sob a tica da complexidade, das multidimenses.
Lembra que o ser humano ao mesmo tempo individuo, parte da sociedade
e parte de uma espcie.
Vivemos em um planeta reconhecidamente com capacidade de
suporte limitado para o padro de consumo que as sociedades dos Estados
Unidos, China e Europa trazem: o projeto de crescimento material ilimitado,
mundialmente integrado, sacrifica 2/3 da humanidade, extenua recursos da
Terra e compromete o futuro das geraes vindouras (BOFF, 1999, p. 17).
O eixo transversal Educao para a Sustentabilidade, no currculo
da Secretaria de Estado de Educao do Distrito Federal, sugere um fazer
pedaggico que busque a construo de cidados comprometidos com o
ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas
prximas geraes. O eixo perpassa o entendimento crtico, individual e
coletivo de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produo
e consumo consciente, qualidade de vida, alimentao saudvel, economia
solidaria, agroecologia, ativismo social, cidadania planetria, tica global,
valorizao da diversidade, entre outros.
Para tal, o percurso pedaggico previsto no projeto poltico-pedaggico
da escola precisa buscar o enfoque holstico
23
, sistmico, democrtico e
participativo, diante de um entendimento do ser humano em sua integralidade
e complexidade, bem como as concepes didticas do processo de ensino-
23 - Integrao e interao entre todos os elementos que compem o universo.
64
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
aprendizagem devem buscar a interdisciplinaridade, em carter processual,
cclico e contnuo.
A formao da Comisso de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na
Escola Com-vida
24
e a criao da Agenda 21 Escolar
25
so importantes
instrumentos que devem ser utilizados na implementao do eixo Educao
para a Sustentabilidade. Assim como a Declarao Universal dos Direitos
Humanos, a Carta da Terra e o Tratado de Educao Ambiental para Sociedades
Sustentveis e Responsabilidade Global so acordos complementares e,
consequentemente, tornam-se referenciais tericos da Educao para a
Sustentabilidade, proposta no Currculo.
Por fim, necessrio que os valores individuais e coletivos sejam
baseados em princpios definidos na Poltica Nacional de Educao Ambiental,
Lei 9.795/1999, e reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educao
Ambiental, Resoluo CNE/CP n 2, de 15/06/2012. Todas as reas do
conhecimento das etapas e modalidades do processo de escolarizao, bem
como suas atividades pedaggicas devem permear, de forma articulada
e transversal, a Educao para a Sustentabilidade. Assim, caminharemos
juntos para uma mudana de postura e prtica rumo sustentabilidade da
estadia humana no planeta Terra.
24 - Forma de organizao da comunidade escolar, inspirada nos crculos de aprendizagem e cultura, que busque contribuir para
um cotidiano escolar sustentvel, participativo, democrtico, descontrado, saudvel e conectado com os saberes tradicionais
(BRASIL, 2007, p. 13).
25 - Instrumento coletivo de planejamento pedaggico para projetos e aes que proponham transformar a realidade escolar e
comunitria em prol da sustentabilidade. Deve estar conectado a uma proposta de Agenda local e global (BRASIL, 2007, p. 22)..
65
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
3. CURRCULO INTEGRADO
O Currculo de Educao Bsica da SEDF prope a superao de uma
organizao de contedos prescritiva, linear e hierarquizada denominada por
Bernstein (1977) de currculo coleo, que tem como caractersticas: a) a
fragmentao e descontextualizao dos contedos culturais e das atividades
didtico-pedaggicas e acadmicas realizadas na escola pelos estudantes e
professores; b) os livros didticos como definidores do que o professor deve
priorizar em sala de aula; c) as disciplinas escolares trabalhadas de forma
isolada, impedindo os vnculos necessrios com a realidade; d) a postura
passiva dos estudantes diante de prticas transmissivas e reprodutivas
de informaes; e) o processo do trabalho pedaggico desconsiderado,
priorizando-se os resultados atravs de exames externos indicadores do
padro de qualidade.
Na busca pela superao da organizao do currculo coleo, o desafio
desta Secretaria de Educao sistematizar e implementar uma proposta de
Currculo integrado em que os contedos mantm uma relao aberta entre
si, podendo haver diferentes graus de integrao (BERNSTEIN, 1977). Esses
contedos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados pelas
escolas e em permanente mudana em torno dos eixos transversais: Cidadania e
Educao em e para os Direitos Humanos, Educao para a Diversidade, Educao
para a Sustentabilidade; alm dos eixos integradores indicados pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para cada etapa/modalidade/ciclo.
Uma proposta curricular integrada no se encerra em si mesma;
justifica-se medida que atende os propsitos educacionais em uma
sociedade democrtica, buscando contribuir na formao de crianas, jovens
e adultos responsveis, autnomos, solidrios e participativos. Para Santom
(1998), as propostas curriculares integradas devem favorecer a descoberta de
condicionantes sociais, culturais, econmicos e polticos dos conhecimentos
existentes na sociedade, possveis a partir da converso das salas de aula em
espaos de construo e aperfeioamento de contedos culturais, habilidades,
procedimentos e valores, num processo de reflexo. Os educadores que
concebem o currculo nessa perspectiva o fazem com base em objetivos
educacionais que se pautam na busca da integrao das diferentes reas do
conhecimento e experincias, com vistas compreenso crtica e reflexiva
da realidade. O autor ressalta ainda que essa integrao no deve acontecer
focando apenas os contedos culturais, [...] mas tambm o domnio dos
66
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
processos necessrios
26
para conseguir alcanar conhecimentos concretos e,
ao mesmo tempo, a compreenso de como se elabora, produz e transforma
o conhecimento, bem como as dimenses ticas inerentes a essa tarefa
(idem, p.27).
O currculo integrado pode ser visto como um instrumento de superao
das relaes de poder autoritrias e do controle social e escolar, contribuindo
para a emancipao dos estudantes atravs do conhecimento, assegurando
a eles, tambm, o exerccio do poder que, na perspectiva apontada por
Foucault, [...] uma prtica social e, como tal, constituda historicamente
(2000, p. 10). Para isso, o espao escolar deve organizar-se em torno
de relaes sociais e pedaggicas menos hierarquizadas, mais dialogadas
e cooperativas, a aula, espao-tempo privilegiado de formao humana
e profissional, requer certo rigor no sentido de construir possibilidades de
aproximao crtica do objeto do conhecimento com liberdade, autonomia,
criatividade e reflexo (SILVA, 2011, p. 212).
Para a efetivao deste Currculo na perspectiva da integrao, alguns
princpios so nucleares: unicidade teoria-prtica, interdisciplinaridade,
contextualizao, flexibilizao.
3.1 Princpios epistemolgicos
Toda proposta curricular situada social, histrica e culturalmente;
a expresso do lugar de onde se fala e dos princpios que a orientam. Falar
desses princpios epistemolgicos do Currculo de Educao Bsica da SEDF
nos remete ao que compreendemos como princpios. Princpios so ideais,
aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental:
conhecimentos, crenas, valores, atitudes, relaes, interaes. Dentro da
perspectiva de Currculo Integrado, os princpios orientadores so: teoria e
prtica, interdisciplinaridade, contextualizao, flexibilizao. Esses princpios
so centrais nos enfoques tericos e prticas pedaggicas no tratamento de
contedos curriculares, em articulao a mltiplos saberes que circulam no
espao social e escolar.
Princpio da unicidade entre teoria e prtica
Na prtica pedaggica criadora, crtica, reflexiva, teoria e prtica
26 - Processos como: leitura, escrita, pesquisa orientada, problematizao, explorao de objetos, mapas, globos, resoluo de
problemas, etc..
67
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
juntas ganham novos significados. Ao reconhecer a unidade indissocivel
entre teoria e prtica, importante, tambm, considerar que, quando so
tratadas isoladamente, assumem carter absoluto, tratando-se na verdade
de uma fragilidade no seio de uma unidade indissocivel. Vzquez (1977)
afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prtica, preciso considerar
a autonomia e a dependncia de uma em relao outra; entretanto, essa
posio da prtica em relao teoria no dissolve a teoria na prtica nem
a prtica na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa
indispensvel constituio da prxis e assume como instrumento terico
uma funo prtica, pois a sua capacidade de modelar idealmente um
processo futuro que lhe permite ser um instrumento s vezes decisivo na
prxis produtiva ou social (idem, p. 215).
Nessa perspectiva de prxis, o conhecimento integrado, h uma
viso articulada de reas de conhecimento/componentes curriculares,
de saberes e de cincias; as metodologias so mais dinmicas, mutveis
e articuladas aos conhecimentos. A avaliao das aprendizagens adquire
sentido emancipatrio quando passa a considerar o conhecimento em sua
totalidade e em permanente construo.
Para garantir a unicidade da teoria-prtica no currculo e sua
efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratgias de integrao
que promovam reflexo crtica, anlise, sntese e aplicao de conceitos
voltados para a construo do conhecimento, permeados por incentivos
constantes ao raciocnio, problematizao, questionamento, dvida. O ensino
que articula teoria e prtica requer de professor e estudantes a tomada de
conscincia, reviso de concepes, definio de objetivos, reflexo sobre as
aes desenvolvidas, estudo e anlise da realidade para a qual se pensam
as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o dilogo
e a disposio para repensar cotidianamente a organizao da aula (SILVA,
2011), com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar?
O que e como avaliar?
So os elementos articuladores entre as reas de conhecimentos/
componentes curriculares e atividades educativas que favorecem a
aproximao dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar
a realidade e atuar crtica e conscientemente, com vistas apropriao/
produo de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o currculo,
possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas existentes no
contexto social.
68
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Princpio da interdisciplinaridade e da contextualizao
A interdisciplinaridade e a contextualizao so nucleares para a
efetivao de um currculo integrado. A interdisciplinaridade favorece a
abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes
curriculares e, a partir da compreenso das partes que ligam as diferentes
reas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentao
do conhecimento e do pensamento. A contextualizao d sentido social e
poltico a conceitos prprios dos conhecimentos e procedimentos didtico-
pedaggicos, propiciando relao entre dimenses do processo didtico
(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar).
O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma
contnua e sistemtica contribui para o desenvolvimento de habilidades,
atitudes, conceitos, aes importantes para o estudante em contato real
com os espaos sociais, profissionais e acadmicos em que ir intervir. A
organizao do processo de ensino-aprendizagem em uma situao prxima
daquela na qual o conhecimento ser utilizado, facilita a compreenso e
favorece as aprendizagens dos estudantes.
Destacamos que a determinao de uma temtica, interdisciplinar
ou integradora, dever ser resultante de uma discusso de base curricular,
visto que so os conhecimentos cientficos pautados nesse Currculo que iro
indicar uma temtica. Essa ao rompe com a lgica de determinao de
temas sem uma reflexo sobre os conhecimentos em diferentes reas e com
as tentativas frustradas de forar uma integrao que no existe, dificultando
a implementao de atividades interdisciplinares na escola.
A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimenses: no prprio
componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter).
No prprio componente curricular, quando so utilizados outros tipos de
conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relaes interpessoais,
entre outras) que iro auxiliar ou favorecer a discusso especfica do
conhecimento do componente curricular. J entre os componentes curriculares,
busca-se a integrao existente entre os diferentes conhecimentos.
O princpio da interdisciplinaridade estimula o dilogo entre
conhecimentos cientficos, pedaggicos e experienciais, criando possibilidades
de relaes entre diferentes conhecimentos e reas. Santom (1998) afirma
que [...] interdisciplinaridade fundamentalmente um processo e uma
filosofia de trabalho que entram em ao na hora de enfrentar os problemas
e questes que preocupam em cada sociedade (p.65), contribuindo para
a articulao das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o
69
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
trabalho colaborativo entre os professores.
Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula,
necessrio se faz que os professores dialoguem, rompendo com a solido
profissional caracterstica das relaes sociais e profissionais na modernidade.
Nas escolas pblicas do DF, o dilogo necessrio para que assumamos
concepes e prticas interdisciplinares tem local para acontecer: as
coordenaes pedaggicas, espaos-tempos privilegiados de formao
continuada, planejamento, discusso do currculo e organizao do trabalho
pedaggico que contemplem a interdisciplinaridade como princpio.
A seguir, um processo elaborado por Santom (1998), que costuma
estar presente em qualquer interveno interdisciplinar:
a. Definio de um problema, tpico, questo.
b Determinao dos conhecimentos necessrios, inclusive as reas/
disciplinas a serem consideradas.
c. Desenvolvimento de um marco integrador e questes a serem
pesquisadas.
d. Especificao de estudos ou pesquisas concretas que devem ser
desenvolvidos.
e. Articulao de todos os conhecimentos existentes e busca de novas
informaes para complementar.
f. Resoluo de conflitos entre as diferentes reas/disciplinas implicadas
no processo, procurando trabalhar em equipe.
g. Construo de vnculos comunicacionais por meio de estratgias
integradoras, como: encontros, grupos de discusso, intercmbios, etc.
h. Discusso sobre as contribuies, identificando sua relevncia para
o estudo.
i. Integrao dos dados e informaes obtidos individualmente para
imprimir coerncia e relevncia.
j. Ratificao ou no da soluo ou resposta oferecida ao problema
levantado inicialmente.
k. Deciso sobre os caminhos a serem tomados na realizao das
atividades pedaggicas e sobre o trabalho em grupo.
Princpio da Flexibilizao
Em relao seleo e organizao dos contedos, este Currculo
define uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas,
considerando seus projetos poltico-pedaggicos e as especificidades locais
e regionais, enriqueam o trabalho com outros conhecimentos igualmente
70
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
relevantes para a formao intelectual dos estudantes.
A flexibilidade curricular d abertura para a atualizao e a diversificao
de formas de produo dos conhecimentos e para o desenvolvimento da
autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de
uma sociedade em mudana que requer a formao de cidados crticos e
criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao
favorecer o dilogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta,
flexvel e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela
organizao das grades curriculares repletas de pr-requisitos.
A flexibilidade do currculo viabilizada pelas prticas pedaggicas
dos professores, articuladas ao projeto poltico-pedaggico da escola. Ao
considerar os conhecimentos prvios dos estudantes, o professor torna
possvel a construo de novos saberes, ressignificando os saberes cientficos
e os do senso comum. Nessa viso, os conhecimentos do senso comum so
transformados com base na cincia, com vistas a [...] um senso comum
esclarecido e uma cincia prudente [...], uma configurao do saber (SANTOS,
1989, p. 41), que conduz emancipao e criatividade individual e social.
Ao promover a articulao entre os conhecimentos cientficos e os
saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma viso
sincrtica, catica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a
numa sntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva,
abrimos espao para experincias, saberes, prticas dos sujeitos comuns
que protagonizam e compartilham com professores saberes e experincias
construdas em espaos sociais diversos.
71
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
4. AVALIAO PARA AS APRENDIZAGENS: CONCEPO FORMATIVA
A avaliao uma categoria do trabalho pedaggico complexa,
necessria e diz respeito a questes tnues como o exerccio do poder e a
adoo de prticas que podem ser inclusivas ou de excluso.
A Secretaria de Estado da Educao do Distrito Federal (SEEDF)
compreende que a funo formativa da avaliao a mais adequada ao projeto
de educao pblica democrtica e emancipatria. Compreende tambm
que a funo diagnstica compe a avaliao formativa, devendo ser comum
aos demais nveis da avaliao. A funo formativa, independentemente do
instrumento ou procedimento utilizado, realizada com a inteno de incluir
e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Esta funo deve perpassar os
nveis: da aprendizagem, institucional (autoavaliao da escola) e de redes
ou de larga escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invs de punir,
expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliao.
A SEEDF adota o termo Avaliao para as aprendizagens (VILLAS BOAS,
2012) porque nos situa no campo da educao com a inteno de avaliar para
garantir algo e no apenas para coletar dados sem comprometimento com o
processo. A avaliao da aprendizagem se sustenta no paradigma positivista e,
portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa neutralidade. Enquanto
isso, a Avaliao para as aprendizagens se compromete com o processo e
no somente com o produto da avaliao.
Embora os documentos oficiais da SEEDF e escolas explicitem, do
ponto de vista conceitual, a avaliao formativa, ainda comum o uso da
funo somativa, centralizada no produto, presente especialmente nos anos
finais do ensino fundamental e no ensino mdio. Geralmente neste caso o
rito e a prxis docente convergem para avaliar a aprendizagem e no para
a aprendizagem. A inteno desta Secretaria a de possibilitar, por meio
de formao continuada dos profissionais da educao, a modificao dessa
tica e dessas prticas.
Geralmente, a concepo de avaliao baseada no modelo classificatrio
da aprendizagem do aluno gera competio e estimula o individualismo na
escola, produzindo entendimentos da educao como mrito, restrita ao
privilgio de poucos e inviabilizando a democratizao do saber. Villas Boas
(2012) adverte sobre o mito de que o medo da reprovao o que leva o
aprendiz a estudar, quando na verdade os obriga a adentrar o jogo avaliativo
para alcanar notas ou pontos que nem sempre desvelam aprendizagens.
Um processo educacional que busca contribuir para a formao de sujeitos
72
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
autnomos no pode ser conduzido dessa forma, sob pena de produzir um
ensino voltado preparao exclusiva para a realizao de provas e exames.
O mito da reprovao como garantia de melhor desempenho dos estudantes
ainda reforado pela tendncia em acreditar que a no reprovao dispensa
avaliaes e camufla a baixa qualidade do ensino.
Contrria a esses pressupostos, a progresso continuada das
aprendizagens dos estudantes demanda acompanhamento sistemtico de
seu desempenho por meio de avaliao realizada permanentemente. esse
processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe
pedaggica da escola a repensarem o trabalho desenvolvido, buscando
caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento s necessidades de
aprendizagem evidenciadas pelos estudantes.
A progresso continuada consiste na construo de um processo
educativo ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condies de aprendizagem
a todos os estudantes, rompendo com avaliao classificatria, fragmentada
e permeada pela reprovao anual (JACOMINI, 2009). A progresso
continuada no permite que os estudantes avancem sem terem garantidas
as suas aprendizagens. um recurso pedaggico que, associado
avaliao, possibilita o avano contnuo dos estudantes de modo que no
fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo (VILLAS
BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). Fundamenta-se na [...] ideia de que o
estudante no deve repetir o que j sabe; e no deve prosseguir os estudos
tendo lacunas em suas aprendizagens (Idem, p. 9). Isso significa que os
estudantes progridem nos anos escolares sem obstculos ou percalos que
venham interromper a evoluo de seu desenvolvimento escolar. este o
principal aspecto que caracteriza uma organizao escolar em ciclos e difere
a progresso continuada da promoo automtica, na qual o estudante
promovido independentemente de ter aprendido. Neste ltimo caso, valem
as notas obtidas e no a aprendizagem por parte de todos(as).
A progresso continuada pode ser praticada por meio de mecanismos
como: reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, levando em
conta suas necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir
com diferentes professores e colegas; avano dos estudantes de um
perodo a outro, durante o ano letivo, se os resultados da avaliao assim
indicarem. A escola poder acrescentar outros mecanismos e estratgias
pedaggicas aps anlise realizada pelo conselho de classe, entre os quais
o desenvolvimento de projetos interventivos, autoavaliao, feedback ou
retorno, avaliao por pares ou colegas, etc.
essencial que do planejamento e desenvolvimento das prticas
73
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
avaliativas participem a equipe gestora e de apoio (SEAA, SOE, Sala de
Recursos), coordenadores pedaggicos, professores, estudantes numa
relao dialgica e recproca.
O Conselho de Classe, uma das mais relevantes instncias avaliativas
da escola. Acontece ao final de cada bimestre, perodo ou quando a escola
julgar necessrio, com o objetivo de analisar de forma tica aspectos atinentes
aprendizagem dos estudantes: necessidades individuais, intervenes
realizadas, avanos alcanados no processo ensino-aprendizagem, alm
de estratgias pedaggicas adotadas, entre elas, projetos interventivos e
reagrupamentos. Os registros do Conselho de Classe, relatando progressos
evidenciados e aes pedaggicas necessrias para a continuidade das
aprendizagens do estudante, devem ser detalhados e disponibilizados
dentro da escola, especialmente de um ano para outro quando os docentes
retomam o trabalho e precisam conhecer os estudantes que agora esto,
mais diretamente, sob seus cuidados.
Para acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes,
algumas prticas podem ser realizadas a partir do planejamento individual e
ou coletivo dos professores:
a. Anlises reflexivas sobre evidncias de aprendizagens a partir
de questionamentos como: o estudante apresentou avanos, interesses,
desenvolvimento nas diferentes reas de conhecimento? As tarefas avaliativas
e as observaes feitas permitem perceber avanos em que sentido? O
estudante ou grupos de estudantes precisam de mais tempo ou de mais
ateno dos professores para alcanar as aprendizagens necessrias? Que
tipo de interveno necessria para que isso ocorra? Compreendem-se as
razes didticas, epistemolgicas, relacionais de o estudante no avanar na
direo esperada?
b. Organizao de situaes para que estudantes e professores se
conheam melhor e conversem sobre a escola que desejam. Para isso,
dinmicas de grupo podem ser planejadas pelo coletivo de professores e
coordenao pedaggica. Esse procedimento pode fazer parte da avaliao
diagnstica inicial realizada no incio do ano letivo, das avaliaes institucionais
realizadas ao longo dele ou sempre que for necessrio.
c. Registro de aspectos que permitam acompanhar, intervir e promover
oportunidades de aprendizagem a cada estudante sem perder a ateno ao
grupo como um todo. Os registros podem ser feitos por profissionais do SOE,
SEAA, Sala de Recursos, Coordenao Pedaggica e professores ou pelos
prprios estudantes em um processo de autoavaliao.
d. Observao e anotao do que os estudantes ainda no
74
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
compreenderam, do que ainda no produziram, dos aspectos que ainda
necessitam de maior ateno e orientao, por meio de registros no Dirio de
Classe e em outros instrumentos, como por exemplo, o portflio construdo
com essa finalidade. Essa prtica possibilita aos professores que lidam com um
mesmo estudante ou grupos de estudantes, conhec-los melhor para definir
estratgias conjuntas; sugerir novas atividades e ou tarefas interdisciplinares.
A observao como procedimento avaliativo permite localizar cada estudante
ou grupo de estudantes em seu momento e trajetos percorridos, alterando
o enfoque avaliativo e as prticas de recuperao, alm das atividades
desenvolvidas no Projeto Interventivo, Parte Diversificada e Reagrupamentos.
Para isso, a Secretaria de Estado da Educao do Distrito Federal
(SEEDF) apresenta as Diretrizes de Avaliao Educacional (2014) que
articulam os trs nveis de avaliao educacional: avaliao em larga escala
ou em redes de ensino, realizada pelo Estado; avaliao institucional da
escola, desenvolvida por ela mesma; e avaliao da aprendizagem em
sala de aula, sob a responsabilidade do professor. A perspectiva de que
esses trs nveis interajam entre si e possam contribuir efetivamente para a
melhoria da qualidade da educao pblica no DF.
Alm das Diretrizes, a SEEDF desenvolve sistema de avaliao de rede.
Os testes e demais instrumentos que integraro esse sistema prprio da
SEEDF sero realizados em Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA, por
meio de softwares que auxiliam na montagem de cursos e instrumentos de
avaliao acessveis pela Internet. Distinta dos demais mtodos e sistemas,
esta tecnologia prev a testagem em todas as reas curriculares e no
apenas em Portugus e Matemtica, como tem ocorrido no restante do pas.
A ideia que a escola e o docente sejam os primeiros a conhecerem os
resultados e junto com o coletivo da escola possam deliberar sobre os ajustes
no Currculo e no projeto poltico-pedaggico da instituio. Esse momento
em que se d o entrelaamento entre o exame da rede com a avaliao
praticada na escola denominado de avaliao institucional ou avaliao
do trabalho da escola e deve ocorrer sempre que houver necessidade de
anlises nesse sentido.
Nesta perspectiva curricular, a avaliao, em quaisquer nveis, dever
ser utilizada de maneira que provoma a Educao para a Diversidade,
Cidadania e Educao em e para os Direitos Humanos e Educao para a
Sustentabilidade. A SEEDF no corrobora nenhum ato avaliativo que seja
utilizado para excluir ou cercear direitos educacionais, garantindo assim, a
todos, o direito fundamental e inalienvel de aprender.
75
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
ALGUMAS CONSIDERAES...
As rpidas transformaes ocorridas na sociedade nas ltimas trs
dcadas, fruto da revoluo da cincia e do novo paradigma tecnolgico,
das mudanas em aes produtivas aliadas s questes poltico-econmicas
do processo de globalizao, refletem-se em novas configuraes culturais,
novas formas de ser e estar em sociedade e interferem diretamente nas
prticas educativas em todo o mundo.
Nesse cenrio de mudanas, a educao como elemento de
transformao social tem sido constantemente reorientada pelas correlaes
entre as capacidades exigidas para o exerccio da cidadania e para o trabalho
produtivo, sendo esta, em primeira instncia, a influncia para as reformas
educacionais oficiais que encaminham definies de poltica de educao no
pas e no mundo.
Como desdobramentos desse processo, a excluso proveniente da
sociedade de consumo, a globalizao da pobreza, alienao do pensamento
burgus, explorao da fora de trabalho, do indivduo, dos recursos naturais,
entre outros aspectos, so reproduzidas em currculos escolares que se
pautam no modelo fracionrio e conteudista, reflexo do pensamento da
classe dominante (SILVA; MALZOLINI, 2010).
A educao escolar parece estar em descompasso em relao
evoluo tecnolgica e social emergida de suas prprias reflexes e aes,
mantendo-se a reboque do modelo de produo anterior do sistema
capitalista, o taylorismo / fordismo. A educao est em descompasso em
relao ao novo paradigma tecnolgico, mas as exigncias do novo paradigma
produtivo colocam em pauta, mais uma vez, a exemplo do padro anterior,
o protagonismo da educao na formao da classe trabalhadora para esse
novo modelo de produo. Diferentemente do segundo grande ciclo de
transformaes consubstanciado no modelo taylorista / fordista, a produo
flexvel, relacionada ao paradigma atual, permite a reduo do tempo de
produo e pode possibilitar a diversificao do produto.
Nesse contexto, surge novamente o discurso de que a educao
um requisito essencial para conquistar uma vaga no mercado de trabalho
ou manter-se empregado: falar outra lngua, saber trabalhar em equipe,
ser flexvel e lidar com as ferramentas da informtica tornam-se exigncias
fundamentais. O que revelam os estudos de CARVALHO (2003) que a
flexibilidade o pilar do processo de mudanas, e o problema que temos a
solucionar como encontrar formas de flexibilizar a produo e, ao mesmo
tempo, proteger os trabalhadores.
76
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
No tocante educao, preciso e possvel inovar, construindo
propostas educativas e curriculares organizadas para formar no s para as
exigncias do novo padro tecnolgico, mas que tambm possibilitem uma
educao para a vida e para a construo de uma sociedade de novo tipo,
isto , uma sociedade mais de acordo com os rumos e as demandas postas
pelas transformaes contemporneas das formas de produo do trabalho
e de reproduo da vida e para a vida.
Na escola, a reproduo das desigualdades sociais ratifica-se
nas similitudes do ambiente educacional com as estruturas e processos
empresariais, baseando-se na competio e no mrito individual, pressupostos
dos sistemas de qualidade total adotados pelas empresas e transferidos sem
mediaes para a escola (GENTILI, 1996).
Nesse contexto, a SEEDF prope um Currculo com a expectativa de
que, a partir dele, possamos instituir um movimento educativo voltado
formao integral dos indivduos, em que o ser visto no s como portador
de conhecimento para a indstria e o capital, mas como ser consciente de
sua cidadania e de sua responsabilidade com sua vida e a do outro.
A organizao escolar, caracterizada pela fragmentao dos contedos
e pela rigidez curricular, tem servido de sustentculo reproduo das
desigualdades sociais e dos conhecimentos e valores hegemnicos,
contribuindo para ajustar os sistemas educacionais lgica do mercado e
no da formao humana integral para a vida.
Nesse modelo, os profissionais da educao so vistos como peas
importantes de uma engrenagem reprodutora ao desempenharem a funo
de meros executores de programas e projetos. O conhecimento tratado
como mercadoria, o estudante como cliente e a escola como balco de
negcios, tudo isso voltado ao desenvolvimento do capital humano.
A ruptura com esse modelo desumanizador , pois, o grande desafio
dos sistemas escolares do sculo XXI, sendo o currculo escolar o instrumento
que pode sinalizar a mudana com essa forma tradicional de tratar do
conhecimento.
Nesse sentido, preciso compreender que os conhecimentos escolares
no se traduzem exclusivamente no conhecimento cientfico, mas tambm
sofrem influncias dos saberes populares, da experincia social, da cultura,
do ldico, do saber pensar que constituem o conjunto de conhecimentos
e que, no currculo tradicional, sofrem processos de descontextualizao,
recontextualizao, subordinao, transformao, avaliaes e efeitos de
relaes de poder.
A escola deixa de ser apenas lugar de aquisio de habilidades,
77
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
competncias e conhecimentos para o exerccio do trabalho, e torna-
se espao privilegiado de produo de cultura, de valorizao de saberes,
prticas e contedos que desenvolvam a conscincia de classe.
Essa compreenso orientou a reelaborao deste Currculo de Educao
Bsica, procurando a superao da organizao prescritiva do conhecimento.
Para isso, a Secretaria de Estado da Educao do Distrito Federal (SEEDF)
prope repensar o que justifica determinados conhecimentos no
contemplados no currculo, algumas reas de conhecimento ou contedos
serem considerados mais importantes que outros. Prope questionar conflitos
e interesses presentes no processo de produo do conhecimento e que no
so aparentes (MOREIRA; CANDAU, 2007).
Uma proposta curricular de alcance para a sociedade contempornea
dever, pois, agregar s tendncias atuais da cincia e das tecnologias a
seleo, incluso e organizao de conhecimentos socialmente relevantes
e significativos, de modo a colaborar para a formao integral de sujeitos
autnomos, crticos, criativos, sem deixar de lado a produo cultural dos
grupos sociais historicamente marginalizados, cidados capazes de reflexo
e ao.
Diante desse desafio, educadores precisam assumir junto com a
comunidade escolar o protagonismo na elaborao e implantao do
Currculo, trazendo para a pauta pedaggica a discusso de questes de
gnero, sexualismo, cultura crist, eurocentrismo, americanismo, controle
social, gesto democrtica, responsabilidade social, racismo que ainda
impregnam as propostas curriculares em exerccio nas escolas brasileiras.
Discutir currculo discutir vida, concepo de homem e de mundo,
projeto de sociedade num intenso movimento. compreender, rememorar,
repensar, redefinir a funo social da escola e de cada profissional da
educao. desvelar as relaes de poder que esto ocorrendo na escola
e para alm dela. Isso exige, entre outros aspectos, a compreenso e o
questionamento de concepes que suportam a organizao dos espaos-
tempos escolares; a explicitao de interesses que definem as polticas
educacionais; a compreenso do que seja mtodo e as intenes que o
sustentam (ANTONIO; GEHRKE e SAPELLI, 2008).
O currculo no um instrumento neutro. H nele, intrinsecamente,
uma intencionalidade, aes pensadas por agentes polticos e por aes
pedaggicas e curriculares, com interesses prprios e que vo possibilitar
sua materializao. Como no h currculo desvinculado dos contedos que
o constituem, os conhecimentos tericos historicamente produzidos pela
humanidade e validados cientificamente precisam estar contemplados de
78
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
forma a favorecer a interveno da comunidade escolar sobre sua prpria
realidade, na perspectiva da transformao e do controle social.
Nesse sentido, para alm da explicitao de sua orientao
epistemolgica, o currculo da escola atual precisa considerar, entre outras
questes, a mutabilidade do conhecimento, a historicidade da realidade, do
momento histrico-social em que vivemos, os resultados que o conhecimento
j alcanou em uma determinada rea e a perspectiva de projeto de sociedade
que se tenha e que se queira ter (NASCIMENTO; PANOSSIAN, 2011).
Compreendido como um instrumento histrico, poltico, pedaggico
e cultural, o currculo no , pois, um elemento esttico. Constitudo por
prticas sociais determinadas pelo momento histrico e social, carrega, como
condio, a mutabilidade, o no absolutismo dos contedos e conhecimentos.
Mais que isso, requer a escolha de fenmenos da realidade como objeto de
estudos dinmicos e que estabelecem mltiplas relaes com as realidades
dos sujeitos que os constroem e estudam, ou seja, requer Movimento.
Nesse Movimento possvel determinar quais os contedos essenciais
objetivamente existentes, necessrios de ser apropriados pelos estudantes,
na perspectiva de desenvolvimento de seu prprio pensamento terico
e prtico, elaborando hipteses, criando possibilidades de solues das
problematizaes postas.
A definio dos conceitos ou contedos essenciais de um objeto
de estudo a ao fundamental para a organizao e elaborao de uma
proposta curricular, sendo esta o elemento orientador de todas as demais
etapas dos processos de ensino e de aprendizagem. So esses contedos
os norteadores das abstraes conceituais e apropriaes do conhecimento
que os estudantes devero construir e, portanto, das aes de ensino-
aprendizagem a serem desenvolvidas em sala de aula e no ambiente
escolar por professores, por gestores, enfim, por todos os atores envolvidos.
(NASCIMENTO e PANOSSIAN, 2011).
A conquista da qualidade referenciada nos sujeitos sociais, sinnimo
de democratizao do ensino, no se traduz apenas na garantia do acesso
e da permanncia do educando na escola, mas depende, sobretudo, de
uma poltica curricular cuja centralidade reside no direito s aprendizagens,
no movimento necessrio para a possibilidade dessas aprendizagens pelo
estudante.
Assim, este Currculo de Educao Bsica da Rede Pblica de Ensino
do Distrito Federal prev que todos: governo federal, governo local, escolas,
professores, servidores, pais, estudantes, sociedade civil sejam agentes
ativos do currculo.
79
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Este um Currculo em Movimento que possui uma acepo mais
ampla da gesto democrtica, com base no regime de participao social
efetiva e no controle social. E por estar em movimento permanente de
discusso, implantao e avaliao um convite a todos os envolvidos
em sua implementao para discutir a funo social da escola, tentando
romper com a concepo conservadora de cincia, currculo, conhecimento,
questionando prticas pedaggicas conservadoras, compreendendo que a
educao construo coletiva, portanto, direito inalienvel de todos e que
cada gerao impulsiona suas mudanas, seus novos movimentos.
No Movimento do Currculo h muitos processos que vo alm do
sistema social e buscam ver na educao no s um aparelho ideolgico
de Estado, mas a possibilidade de transformao, de construo de uma
identidade, de convivncia com a diversidade: diferentes formas de ao
curricular, diferentes movimentos educativos, diferentes jeitos e sujeitos de
agir e pensar.
O Movimento deste Currculo poltico, pedaggico, flexvel,
transformador, crtico, reflexivo, diverso, libertador de correntes, sejam
ideolgicas, cientficas, filosficas... O movimento vida, verdade prenhe
de realidade, senso comum e cincia, relao teoria e prtica, elemento
de poder. Poder como possibilidade de constituio da prxis transformadora
da realidade social.
no Movimento que se constri uma educao que vai alm do
capital, uma educao com o Estado e alm dele, ou seja, uma educao
pblica em que consigamos enxergar e vislumbrar a participao conjunta do
Estado e da Sociedade Civil.
80
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
REFERNCIAS
ALARCO, I. Do olhar supervisivo ao olhar sobre a superviso. In:
RANGEL, M. Superviso pedaggica: princpios e prticas. 3. ed. Campinas,
SP: Papirus, 2001.
ANTONIO, C. A.; GEHRKE, M. e SAPELLI, M. L. S. Currculo e Escola
Itinerante: pressupostos, contedo, vivncias geradoras e avaliao. 2008.
Disponvel em: <http://www2.unicentro.br/editora/files/2012/11/msapelli.
pdf>. Acesso em: 05/11/2013.
ARAJO. A. C. de. Gesto, avaliao e qualidade da educao:
polticas pblicas reveladas na prtica escolar. Braslia: Lber Livro; Faculdade
de Educao/Universidade de Braslia, 2012.
ARROYO, M. Outros sujeitos, outras pedagogias. Rio de Janeiro.
Editora: Vozes, 2012, p. 260.
_______.Currculo, territrio em disputa. Petrpolis, RJ: Vozes, 2011.
_______. Pedagogias em Movimento: o que temos a aprender dos
movimentos sociais. In: Currculo sem Fronteiras, v.3, n.1, p. 28-49, jan-
jun/2003.
BARBOSA, A. I. C. A organizao do trabalho pedaggico na
Licenciatura em Educao do Campo/UnB: do projeto s emergncias e
tramas do caminhar. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Ps-
Graduao em Educao da Universidade de Braslia. Braslia, 2012. 351 p.
BENEVIDES, M. V. Cidadania e direitos humanos. Texto disponvel em:
<http:// www.iea.usp.br/artigos>.
BERNSTEIN, B. Clases, cdigos y control. v. 2. Hacia una teora de las
transmisiones educativas. Madrid: Akal, 1977.
BOFF, L. Saber Cuidar: tica do humano - compaixo pela Terra. 16
ed. Petrpolis: Vozes, 1999. 199 p.
BOURDIEU, P. A escola conservadora: as desigualdades frente escola
81
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
e cultura. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (orgs.). Escritos de educao.
Petrpolis: Vozes, 1998.
_______. A Misria do Mundo. Petrpolis: Vozes, 2003.
BRAGA, E. M. A questo do gnero e da sexualidade na educao. In:
RODRIGUES, E.; ROSIN, S. M. (orgs.). Infncia e prticas educativas. Maring
- Pr. EDUEM. 2007.
BRASIL. I Conferncia Nacional por uma Educao do Campo CNEC,
1998. Disponvel em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/conferencia/
documentos/doc_final.pdf>.
_______. II Conferncia Nacional por uma Educao do Campo, 2004,
Luzinia/GO. Declarao Final: Por uma Poltica Pblica de Educao do
Campo, mimeo.
_______. Conselho Nacional de Educao, Cmara de Educao Bsica.
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educao Bsica. Braslia, DF,
2010. Parecer CEB 7/2010, aprovado em 7/4/2010.
_______. Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Promulgada
em 5 de outubro de 1988. Braslia: Senado Federal, 1988.
_______. Conveno Interamericana sobre a Concesso dos Direitos
Civis da Mulher (1948). Disponvel em: <http://www2.mre.gov.br/dai/
cicdcm.htm>. Acesso em: 25/10/2013.
_______. Conveno Internacional sobre a Eliminao de todas
as Formas de Discriminao Racial (1965). Disponvel em: <http://portal.
mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em:
25/10/2013.
_______. Conveno n169 da Organizao Internacional do Trabalho
OIT sobre povos indgenas e tribais. Disponvel em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm>.Acesso em:
25/10/2013
_______. Conveno Relativa Luta Contra a Discriminao no Ensino
82
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
(1967). Disponvel em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_
bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 25/10/2013.
_______. Conveno sobre os Direitos Polticos da Mulher (1953).
Disponvel em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_
universal.htm>. Acesso em: 25/10/2013.
_______. Declarao dos Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias
Nacionais, tnicas Religiosas e Lingusticas (1992). Disponvel em: <http://
www.oas.org/dil/port/1992>. Acesso em: 25/10/2013
_______. Declarao de Durban Relatrio da Conferncia Mundial
Contra Racismo, Discriminao Racial, Xenofobia e Intolerncia Correlata.
Durban, de 31 de agosto a 8 de setembro de 2001. Disponvel em: <http://
afro-latinos.palmares.gov.br>. Acesso em: 30/10/2013.
_______. Decreto n 7.352, de 4 de novembro de 2010. Disponvel
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/
d7352.htm>. Acesso em: 30/10/2013.
_______. Diretrizes Nacionais para Educao em Direitos Humanos.
CNE/CP n 08/2012.Resoluo n 08/2012. Disponvel em: <http://
www.direitoaeducacao.org.br/wpcontent/uploads/2012/04/ParecerCNE_
educa%C3%A7%C3%A3o-em-DDHH.pdf>. Acesso em: 05/11/2013.
_______. Gnero e diversidade na escola: formao de professoras/es
em Gnero, Orientao Sexual e Relaes tnico-Raciais. Livro de contedo.
Verso 2009. Rio de Janeiro: CEPESC; Braslia: SPM, 2009a.
_______. Lei 9.394, de 29 de dezembro de 1996 Lei de Diretrizes e
Bases da Educao Nacional.
_______. Lei n 9.795, n 9.795, de 27.4.1999. Dispe sobre Educao
Ambiental e institui a Poltica Nacional de Educao Ambiental, e d outras
providncias. DOU 28.4.1999.
_______. Ministrio da Educao. Diretrizes Operacionais para a
Educao Bsica nas Escolas do Campo. CNE/CEB, Parecer 36/2001.
83
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
________. Ministrio da Educao. Resoluo CNE/CP n 2, de 15
de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educao Ambiental.
________. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Continuada,
Alfabetizao e Diversidade. Formando Com-vida, Comisso de Meio Ambiente
e Qualidade de Vida na Escola: construindo Agenda 21 na escola. 2. ed.,
Braslia: MEC, Coordenao Geral de Educao Ambiental, 2007. 56 p.
_______. Ministrio da Justia. Estatuto dos Povos Indgenas. Braslia,
5 de junho de 2009.
_______. Parecer n 03/2004 do Conselho Nacional de Educao/
Cmara Plena CNE/CP. Disponvel em: <http://portal.mec.gov.br/cne/
arquivos/pdf>.
_______. Plano Nacional de implementao das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educao das relaes tnico-raciais e para o ensino de histria
e cultura afro-brasileira e africana. Braslia: SEPPIR; MEC/SECAD, 2008.
_______. Plano Nacional de Polticas para as Mulheres PNPM (2005).
Disponvel em: <http://spm.gov.br/pnpm/pnpm>.
_______. Plano Nacional de Promoo da Cidadania e Direitos
Humanos LGBT (2009). Disponvel em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/
homofobia/planolgbt.pdf>.
_______. Programa Nacional de Educao do Campo PRONACAMPO.
Portaria n 86, de 1 de fevereiro de 2013.
_______. Resoluo n 01/2004 do CNE/CP. Disponvel em: <http://
portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf>.
_______.Srie Mais Educao Integral: Texto Referncia Para O
Debate Nacional, MEC: 2009b. Disponvel em: <http://portal.mec.gov.br/
dmdocuments/cadfinal_educ_integral.pdf>. Acesso em: 05/11/2013.
_______. Tratado de Educao Ambiental para Sociedades Sustentveis
e Responsabilidade Global. 1992. Disponvel em: <http://portal.mec.
84
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/tratado.pdf>.Acesso em:
05/11/2013.
CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola mais do
que escola. RJ: Vozes, 2004.
CAPRA, F. A concepo sistmica da vida. In: ____. O ponto de
mutao; a cincia, a sociedade e a cultura emergente. Trad. lvaro Cabral.
So Paulo: Cultrix, 1986. p. 25z-298
CARVALHO. O. F. Educao e formao profissional: trabalho e tempo
livre. Braslia. Plano Editora, 2003.
COSTA, V. M do R. S.;Torres. I. S. Possibilidade de Atuao de Novos
Sujeitos Sociais Numa Escola que Vivencie a Democracia. Anpae, 2010.
Disponvel em: <http://www.anpae.org.br/iberoamericano2012/Trabalhos/
VaniaMariadoRegoSilvaCosta_GT8.pdf>. Acesso em: 05/11/2013.
Declarao de Independncia dos Estados Unidos. EUA:
1776. Disponvel em: <http://www.wdl.org/pt/item/109 zoom/#
group=1&page=1&zoom=1.8696¢erX=0.4895¢erY=0.6514>.
Acesso em: 05/11/2013.
Declarao dos Direitos Do Homem e do Cidado. Frana: 1789.
Disponvel em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacaoeconteudosdeapoio/
legislacao/direitoshumanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf>. Acesso em:
05/11/2013.
DISTRITO FEDERAL, Projeto Poltico-Pedaggico Professor Carlos
Mota, SEEDF, 2012.
_______. Lei n 4.920, de 21 de agosto de 2012. Disponvel em:
<http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2012/08>. Acesso em:
30/10/2013.
_______. Lei Orgnica do Distrito Federal. Disponvel em: <http://www.
fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.
cfm?txtNumero=0&txtAno=0&txtTipo=290&txtParte=>. Acesso em:
04/11/2013.
85
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
_______. Plano Nacional de Educao em Direitos Humanos / Comit
Nacional de Educao em Direitos Humanos. Braslia: Secretaria Especial
dos Direitos Humanos, Ministrio da Educao, Ministrio da Justia, UNESCO,
2007. Disponvel em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/edh/pnedhpor.pdf>.
Acesso em: 05/11/2013.
_______. Resoluo n 1/2012 do Conselho de Educao do Distrito
Federal CEDF. Acesso em: 30/10/2013.
DOMINGUES, P. J. Negros de almas brancas?A ideologia do
branqueamento no interior da comunidade negra em So Paulo, 1915-1930.
Estudo afro-asitico. [on-line]. 2002, v.24, n.3, p. 563-600. ISSN 0101-
546X. <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-546X2002000300006>.
DUARTE, L.; WEHRMANN, M. Desenvolvimento e sustentabilidade:
desafios para o sculo XXI. Revista de Planejamento Regional, Salvador,
2002. p. 15-24.
FOUCAULT, M. Microfsica do poder. Rio de Janeiro: Edies Graal, 2000.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. So Paulo: Ed. Paz e Terra, 2000.
FREITAS, L. C. A escola nica do trabalho: explorando os caminhos de
sua construo. Mimeo. Produzido para publicao nos Cadernos do ITERRA
n.15, set. 2010 em 30/06/2010.
GADOTTI, M. Educar para a sustentabilidade: uma contribuio
dcada da educao para o desenvolvimentos sustentvel. So Paulo:
Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2008. 127 p.
_______. Escola Cidad. So Paulo, 3 ed, Cortez, Coleo questes
da nossa poca, v. 24, 1995.
GAUTHIER, C. et alii. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas
contemporneas sobre o saber docente. Trad. Francisco Pereira. Iju: Eduniju,
1998, 457 p.
GASPARIN, J. L. Uma didtica para a Pedagogia Histrico-Crtica.
Campinas: Autores Associados, 5 ed. rev., 2012.
86
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
GENTILI, P. Neoliberalismo e educao: manual do usurio. In: SILVA,
T.T.; GENTILI, P. (orgs.) Escola S.A: quem ganha e quem perde no mercado
educacional do neoliberalismo. Braslia: CNTE, 1996.
GRAMSCI, A. Cadernos do crcere / (orgs.) COUTINHO, C.N.;
NOGUEIRA, M. A.; HENRIQUES, L. S., Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
2002 (v.3).
GUAR, I. M. F. R., imprescindvel educar integralmente. Cadernos
Cenpec / Centro de Estudos e Pesquisas em Educao, Cultura e Ao
Comunitria: Educao Integral. So Paulo: CENPEC, n. 2, 2006.
HADJI, C. Avaliao desmistificada. Porto Alegre-RS: Artmed, 2001.
HALL, S. Da dispora: identidades e mediaes culturais. Belo
Horizonte: Ed. UFMG; Braslia: Unesco, 2003.
HENRIQUES, R. M. Desigualdade Racial no Brasil: evoluo das
condies de vida na dcada de 90. Texto para discusso n. 807. Braslia:
IPEA, 2001. Disponvel em: <http://www.ipea.gov.br>. Acesso em:
22/10/2013.
JACOMINI, Mrcia Aparecida. Educar sem reprovar: desafio de uma
escola para todos. Revista Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 35, n.3, p.
557-572. Set./dez. 2009.
KARNAL, L. Estados Unidos, liberdade e cidadania. In: PINSKY, J.;
PINSKY, C. B. Histria da cidadania. So Paulo: Contexto, 2005.
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, J. Por que constru Braslia. Braslia:
Senado Federal, 2000.
LOURO. G. L. Gnero, sexualidade e educao. Petrpolis: Vozes, 1997.
MAURCIO, L. V. Escritos, Representaes e pressupostos da escola
pblica de horrio integral. Em aberto / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Ansio Teixeira. Braslia, v. 22, n. 80, p. 15-31, abril, 2009.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro:
87
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
Zahar, 1967.
MSZROS, I. A educao para alm do capital. Traduo de Isa
Tavares. So Paulo, Biotempo, 2005.
MONDAINI, M. O respeito aos direitos dos indivduos. In: PINSKY, J.;
PINSKY, C. B. Histria da cidadania. So Paulo: Contexto, 2005.
MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. M. Indagaes sobre currculo:
currculo, conhecimento e cultura. Braslia: Ministrio da Educao, Secretaria
de Educao Bsica, 2007.
MORIN, E. O problema epistemolgico da complexidade. Lisboa:
Europa- Amrica, 1996.
_______. Os sete saberes necessrios educao do futuro. 2. ed.
So Paulo: Cortez, 2000. 118 p.
NASCIMENTO, C. P.; PANOSSIAN, M. L. Currculo, conhecimento e
atividade docente: uma anlise do aparente movimento de superao das
pedagogias crticas pelas ps-crticas. V Encontro Brasileiro de Educao e
Marxismo: Marxismo, educao e emancipao humana. UFSC, Florianpolis,
SC, 2011.
NOVAES, W. Agenda 21. In: TRIGUEIRO, A. Meio ambiente no
sculo 21: 21 especialistas falam da questo ambiental nas suas reas de
conhecimento. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. p. 323-331.
ODALIA, N.. A liberdade como meta coletiva. In: PINSKY, Jaime.
PINSKY, Carla Bassanezi. Histria da cidadania. So Paulo: Contexto, 2005.
ONU. Carta de Responsabilidades Humanas. 2000. Disponvel
em:<http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/C_2007_Car ta_
responsabilidades_humanas.pdf>. Acesso em: 5/11/2013.
_______. Conferncia das Naes Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento - CNUMAD -1992.
_______. II Conferncia de Direitos Humanos. Viena: 1993.
88
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
_______. Declarao Universal dos Direitos Humanos de 1948.
Disponvel em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_
universal.htm>. Acesso em: 9/10/2013.
_______. Relatrio Brundtland Nosso Futuro Comum - 1987.
Disponvel em: <http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.
htm>. Acesso em: 5/11/2013.
POCHMANN, M. O Emprego na Globalizao. So Paulo: Boitempo
Editorial, 2001. v. 1
PUCCI, B. Teoria critica e educao: A questo da formao cultural
na escola de Frankfurt. 2. ed. Petrpolis: Editora Vozes Ltda., 1995.
RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formao e o sentido do Brasil. 2
edio - So Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 447.
ROCHA LOURDES, R. C. da. Sustentabilidade XXI: Educar e inovar sob
uma nova conscincia. So Paulo: Editora Gente, 2009. 233 p.
SACHS, I. Desenvolvimento includente, sustentvel, sustentado. Rio
de Janeiro: Garamond, Universitria / SEBRAE. 2004. 151 p.
SACRISTN, J. G. O currculo: uma reflexo sobre a prtica. Porto
Alegre: ArtMed, 2000.
SANTOM, J. T. Globalizao e interdisciplinaridade: o currculo
integrado. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1998.
SANTOS, B. S. A Construo Multicultural da Igualdade e de diferena.
Oficina do CES, n. 135. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, 1999. Pgina 44.
_______. de S. Introduo a uma cincia ps-moderna. Rio de Janeiro:
Graal, 1989.
_______. Para uma Concepo Multicultural dos Direitos Humanos.
Contexto Internacional, 23, 1, p. 7-34. Lisboa, 2001.
_______. Para um novo senso comum: a cincia, o direito e a poltica
89
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
na transio paradigmtica. 4 ed. So Paulo: Cortez, 2002. 117 p.
_______. Pela mo de Alice: o social e o poltico na ps-modernidade.
So Paulo: Cortez, 2008.
_______.Um discurso sobre as cincias. So Paulo: Cortez, 2003.
SAVIANI, D. Escola e Democracia. Edio comemorativa. Campinas:
Autores Associados, 2008.
_______. Pedagogia Histrico-Crtica: primeiras aproximaes.
Campinas: Autores Associados, 8 ed., 2003.
SEEDF. Diretrizes de Avaliao Educacional da Secretaria de Estado
da Educao do Distrito Federal. In: Diretrizes Pedaggicas da Secretaria de
Estado de Educao. Braslia - DF, 2013 (no prelo).
_______. Diretrizes Pedaggicas da Secretaria de Estado de Educao.
Subsecretaria de Educao Bsica. Braslia - DF, 2008.
_______. Lei 4.751. Gesto Democrtica do Sistema de Ensino Pblico
do DF. Braslia/DF, fevereiro de 2012.
SILVA, E. F. da. Nove aulas inovadoras na universidade. Campinas:
Papirus, 2011.
SILVA, L.; MAZOLINI, E. A. Ciclos de formao humana: desafios
e possibilidades de um currculo em movimento. Centro de Formao e
Atualizao dos Profissionais da Educao Bsica (CEFAPRO), polo de Sinop-
MT. Mato Grosso, 2010.
SILVA, T.T. Documentos de identidade: uma introduo s teorias do
currculo. Belo Horizonte: Autntica, 2003.
SINGER, P. A cidadania para todos. In: PINSKY, J.; PINSKY, C. B.
Histria da cidadania. So Paulo: Contexto, 2005.
TORRES, H. R. As matrizes ecopedaggicas e a educao do campo
uma abordagem possvel e necessria In: Anais do Seminrio Internacional
90
CURRCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAO BSICA
PRESSUPOSTOS TERICOS
em Poltica e Governana Educacional: para a cidadania, diversidade, direitos
humanos e meio ambiente. Braslia: Programa de Mestrado e Doutorado em
Educao da Universidade Catlica de Braslia, 2011.140 p
TORRES, I. S. A Fraternidade como Categoria Poltica: Princpio
Anunciado na Educao Brasileira. Tese de Doutorado, Programa de Ps-
Graduao em Educao, Faculdade de Educao, Universidade Federal de
Uberlndia. Uberlndia-MG: 2010.
TORRES, R. Comunidad de aprendizaje. In: MEDEIROS, B. e GALIANO,
M. Barrio-escuela: movilizando el potencial educativo de la comunidad. So
Paulo: Fundao Abrinq, Unicef, Cidade Escola Aprendiz, 2005.
VZQUEZ, A. S. Filosofia da prxis. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1977.
VEIGA, J. E. da. Meio ambiente & desenvolvimento. So Paulo: Ed.
SENAC, 2006. 181 p. (Srie Meio Ambiente, 5).
VIGOTSKI, L. S. A construo do pensamento e da linguagem. So
Paulo: Martins Fontes, 2001.
VILLAS BOAS, B. M. de F.; PEREIRA, M. S.; OLIVEIRA, R. M.da
S.; Progresso continuada: equvocos e possibilidades. Braslia: 2012.
Disponvel em: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/sv/article/
download/26692/15287%E2%80%8E>.
Você também pode gostar
- (Livro Completo) - Maria Montessori - Pedagogia Científica PDFDocumento328 páginas(Livro Completo) - Maria Montessori - Pedagogia Científica PDFThayane Poggi100% (11)
- Censupeg PipaDocumento10 páginasCensupeg PipaNatalia DanieleAinda não há avaliações
- Teatro de Fantoche Contra Abuso e Exploracao Sexual de Crianca (Revisado)Documento2 páginasTeatro de Fantoche Contra Abuso e Exploracao Sexual de Crianca (Revisado)Jony Silva Pereira100% (1)
- Teste 1 Prometeu RB20Documento5 páginasTeste 1 Prometeu RB20Andreia LevitaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Da Capacidade CriadoraDocumento48 páginasDesenvolvimento Da Capacidade CriadoraAntônio Gilson71% (7)
- Diferenças e Preconceito Na EscolaDocumento12 páginasDiferenças e Preconceito Na EscolaRaissa Mendes100% (1)
- Fundamentos Sociofilosoficos-LivroDocumento151 páginasFundamentos Sociofilosoficos-LivroMaria Das Dores BezerraAinda não há avaliações
- Formação de Professor 37718-125233-1-PB PDFDocumento38 páginasFormação de Professor 37718-125233-1-PB PDFKelcileny SousaAinda não há avaliações
- A Polisemina Da Categoria Trabalho - FRIGOTTODocumento27 páginasA Polisemina Da Categoria Trabalho - FRIGOTTOSuzana AguiarAinda não há avaliações
- Pesquisa em Educação Considerações Sobre Alguns Ponto-Chave - B. GattiDocumento12 páginasPesquisa em Educação Considerações Sobre Alguns Ponto-Chave - B. GattiPamela FigueiredoAinda não há avaliações
- O Centésimo MacacoDocumento2 páginasO Centésimo MacacoRussel Nash 2007Ainda não há avaliações
- InvestigaçãoDocumento10 páginasInvestigaçãoJéssý OliveiraAinda não há avaliações
- Parâmetros Da Educação Básica de PernambucoDocumento60 páginasParâmetros Da Educação Básica de PernambucoAnonymous vsxjUZ4QAinda não há avaliações
- Avaliação Qualitativa e Inovação - Cipriano LuckesiDocumento33 páginasAvaliação Qualitativa e Inovação - Cipriano LuckesiAlexandre André100% (1)
- Material de Estudo Sobre Projeto Político PedagógicoDocumento6 páginasMaterial de Estudo Sobre Projeto Político PedagógicoAnonymous aPzoIa4Ainda não há avaliações
- Livro Possibilidades e Desafios Da EducaçãoDocumento152 páginasLivro Possibilidades e Desafios Da EducaçãoEllen SantosAinda não há avaliações
- Compromissos, Desafios e Retrocesos Das Políticas Publicas Educacionais Na Formação e No Desenvolvimento ProfissionalDocumento370 páginasCompromissos, Desafios e Retrocesos Das Políticas Publicas Educacionais Na Formação e No Desenvolvimento ProfissionalAndréa GoisAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Histórico Da Didática e Tendências PedagógicasDocumento16 páginasDesenvolvimento Histórico Da Didática e Tendências PedagógicasMarcus ViniciusAinda não há avaliações
- Avanços e Desafios para o Atendimento Às Crianças Da Primeira Infância Da Rede Municipal de Ensino de ItumbiaraDocumento11 páginasAvanços e Desafios para o Atendimento Às Crianças Da Primeira Infância Da Rede Municipal de Ensino de ItumbiaraLia Batista MachadoAinda não há avaliações
- Escola Pública, Açao Dialogica e Açao Comunicativa: A Radicalidade Democrática em Paulo Freire e Jurgen Habermas - Bianco Zalmora GarciaDocumento207 páginasEscola Pública, Açao Dialogica e Açao Comunicativa: A Radicalidade Democrática em Paulo Freire e Jurgen Habermas - Bianco Zalmora GarciaBianco Zamora GarciaAinda não há avaliações
- Conectivismo Pedagógico: Novas Formas de Pensar o EnsinarDocumento14 páginasConectivismo Pedagógico: Novas Formas de Pensar o EnsinarLuiz SoaresAinda não há avaliações
- Livro NIED 2018 Final PDFDocumento408 páginasLivro NIED 2018 Final PDFFernandoAinda não há avaliações
- Uma Breve História Da Formação Docente No Brasil: Da Criação Das Escolas Normais As Transformações Da Ditadura Civil-MilitarDocumento12 páginasUma Breve História Da Formação Docente No Brasil: Da Criação Das Escolas Normais As Transformações Da Ditadura Civil-MilitarIzabella Matos100% (1)
- PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática Da Escola Pública - Parte IIDocumento8 páginasPARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática Da Escola Pública - Parte IIRubens FonsecaAinda não há avaliações
- Avaliação: Um Tema PolêmicoDocumento28 páginasAvaliação: Um Tema PolêmicoMárcia Genovêz0% (1)
- Planejamento Execucao e Avaliacao Na Educacao SuperiorDocumento57 páginasPlanejamento Execucao e Avaliacao Na Educacao Superiorandrelns2002Ainda não há avaliações
- Políticas Educacionais e Valorização Docente No BrasilDocumento36 páginasPolíticas Educacionais e Valorização Docente No BrasilRenata Cristina Lopes AndradeAinda não há avaliações
- Alfabetização de Jovens e Adultos - Livro - Moacir - GadottiDocumento216 páginasAlfabetização de Jovens e Adultos - Livro - Moacir - GadottiMel SampaioAinda não há avaliações
- Caderno GEA N9 Democratização-Do-Campus PDFDocumento68 páginasCaderno GEA N9 Democratização-Do-Campus PDFFabiano Lemos100% (1)
- 2008pesquisaEmEducacaovIIAbr2008 With Cover Page v2Documento153 páginas2008pesquisaEmEducacaovIIAbr2008 With Cover Page v2nascadmAinda não há avaliações
- Políticas de avaliação em larga escala:: análise do contexto da prática em municípios de pequeno porteNo EverandPolíticas de avaliação em larga escala:: análise do contexto da prática em municípios de pequeno porteAinda não há avaliações
- Um Olhar Sobre A Gestão Educacional No Contexto HistóricoDocumento10 páginasUm Olhar Sobre A Gestão Educacional No Contexto HistóricoorbragaAinda não há avaliações
- Classe Multisseriada Histórico PDFDocumento21 páginasClasse Multisseriada Histórico PDFMagnólia PereiraAinda não há avaliações
- Antonio José Romera Valverde - Autodidatismo e Filosofia - Desejo de ConhecerDocumento15 páginasAntonio José Romera Valverde - Autodidatismo e Filosofia - Desejo de ConhecerElbrujo TavaresAinda não há avaliações
- PNE Politicas e Gestao Novas Formas de Organizacao e Privatizacao Versão Final VFDocumento437 páginasPNE Politicas e Gestao Novas Formas de Organizacao e Privatizacao Versão Final VFCláudia Motta R. NavesAinda não há avaliações
- Di A 02 WEBDocumento20 páginasDi A 02 WEBVilma CostaAinda não há avaliações
- A Civilização Escolar Como Projeto Político e Pedagógico Da Modernidade - Cultura em Classes, Por EscritoDocumento20 páginasA Civilização Escolar Como Projeto Político e Pedagógico Da Modernidade - Cultura em Classes, Por EscritoLid SantosAinda não há avaliações
- Reformas Na Educação Superior - de FHC A DilmaDocumento18 páginasReformas Na Educação Superior - de FHC A DilmaJosielle SoaresAinda não há avaliações
- EBOOK - Os Caminhos para A Educação e As Políticas Públicas No Cenário AtualDocumento248 páginasEBOOK - Os Caminhos para A Educação e As Políticas Públicas No Cenário AtualMaria HelenaAinda não há avaliações
- Livro Gestao Escolar e Formacao Continuada de Professores Final 2015 Completo PDFDocumento236 páginasLivro Gestao Escolar e Formacao Continuada de Professores Final 2015 Completo PDFCarlos BarbosaAinda não há avaliações
- IBF - Apostila Da Disciplina Defundamentos de Organização e o Cotidiano Escolar PDFDocumento22 páginasIBF - Apostila Da Disciplina Defundamentos de Organização e o Cotidiano Escolar PDFThais2CapellaryAinda não há avaliações
- Considerações Historicas Sobre A Influencia de John Dewey No Pensamento Pedagogico BrasileiroDocumento13 páginasConsiderações Historicas Sobre A Influencia de John Dewey No Pensamento Pedagogico BrasileiroPaulo Marcos Pereira100% (1)
- Avaliacao Teoria Pratica 1Documento37 páginasAvaliacao Teoria Pratica 1João Sagica100% (1)
- A Formação de Professores PDFDocumento14 páginasA Formação de Professores PDFAndré Fellype MatosAinda não há avaliações
- Marise Nogueira RamosDocumento18 páginasMarise Nogueira RamosViviane RauthAinda não há avaliações
- Articulação Teoria PráticaDocumento11 páginasArticulação Teoria PráticaLaíza Erler Janegitz100% (1)
- A Trajetória Histórica Da DidáticaDocumento5 páginasA Trajetória Histórica Da DidáticaAline BezerraAinda não há avaliações
- Larrosa 2004Documento17 páginasLarrosa 2004CelitaAlmeidaAinda não há avaliações
- NÓVOA - Pobreza Na Prática Do Professor PDFDocumento15 páginasNÓVOA - Pobreza Na Prática Do Professor PDFana paula rufinoAinda não há avaliações
- Plano Estadual de Segurança AlimentarDocumento139 páginasPlano Estadual de Segurança AlimentarVanessa AlmeronAinda não há avaliações
- 0 Perspectivas em Educacao Basica Volume 3 2019 PDFDocumento125 páginas0 Perspectivas em Educacao Basica Volume 3 2019 PDFLindsay AcevedoAinda não há avaliações
- OKR Aplicado À Transformação DigitalDocumento99 páginasOKR Aplicado À Transformação DigitalEdinei CarvalhoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento ProfissionalDocumento37 páginasDesenvolvimento ProfissionalArthur SimõesAinda não há avaliações
- GandinDocumento15 páginasGandinSilmara ManoelAinda não há avaliações
- Criação e Implantação Dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IfetsDocumento13 páginasCriação e Implantação Dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Ifetsm2rio2seixas2cardosoAinda não há avaliações
- Tema 1 - GESTÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E AÇÃO DOCENTEDocumento13 páginasTema 1 - GESTÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E AÇÃO DOCENTEFrank de MelloAinda não há avaliações
- Filosofia-o-Que-e-Para-Que-Serve Maura IglésiasDocumento5 páginasFilosofia-o-Que-e-Para-Que-Serve Maura IglésiasLarissa DuarteAinda não há avaliações
- EBOOK - Politicas Publicas de Formacao DocenteDocumento512 páginasEBOOK - Politicas Publicas de Formacao DocenteGRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM SEMIÓTICA, DISCURSO E LINGUAGEM - SEDLINAinda não há avaliações
- O Setor Privado e a Educação Superior Brasileira no Governo Lula e DilmaNo EverandO Setor Privado e a Educação Superior Brasileira no Governo Lula e DilmaAinda não há avaliações
- Geografias Modernas e Pos-ModernasDocumento17 páginasGeografias Modernas e Pos-ModernasElaine TinocoAinda não há avaliações
- (2016) SANFELICE SIQUELLI (Orgs) - Os Desafios À Democratização Da Educação No Brasil Contemporâneo.Documento310 páginas(2016) SANFELICE SIQUELLI (Orgs) - Os Desafios À Democratização Da Educação No Brasil Contemporâneo.Johnny DanielAinda não há avaliações
- Resenha Alfaletrar 2020Documento7 páginasResenha Alfaletrar 2020Tatiane PaivaAinda não há avaliações
- Ensino Médio Integrado - Notas Críticas Sobre Os Rumos Da TravessiaDocumento20 páginasEnsino Médio Integrado - Notas Críticas Sobre Os Rumos Da TravessiaLUIZ COLUSSIAinda não há avaliações
- Educação e tecnologia: inovações e adaptações: - Volume 1No EverandEducação e tecnologia: inovações e adaptações: - Volume 1Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasNo EverandO Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasAinda não há avaliações
- O lugar da pedagogia e do currículo nos cursos de Pedagogia no Brasil: reflexões e contradições (2015-2021)No EverandO lugar da pedagogia e do currículo nos cursos de Pedagogia no Brasil: reflexões e contradições (2015-2021)Ainda não há avaliações
- Calendário SEDF 2015Documento1 páginaCalendário SEDF 2015Russel Nash 2007Ainda não há avaliações
- Veja Como Se Faz PDFDocumento5 páginasVeja Como Se Faz PDFRussel Nash 2007Ainda não há avaliações
- Cartilha Assedio MoralDocumento18 páginasCartilha Assedio MoralRussel Nash 2007Ainda não há avaliações
- Auto Avaliação PDFDocumento2 páginasAuto Avaliação PDFRussel Nash 2007Ainda não há avaliações
- Ingles Que Nao Falha-Caderno Zero-Ingles Que Nao Falha PDFDocumento10 páginasIngles Que Nao Falha-Caderno Zero-Ingles Que Nao Falha PDFRussel Nash 2007Ainda não há avaliações
- Revisão 5 - Exercícios de Leitura de GráficosDocumento3 páginasRevisão 5 - Exercícios de Leitura de GráficosRussel Nash 2007Ainda não há avaliações
- Historia Do Ensino Da MatematicaDocumento70 páginasHistoria Do Ensino Da MatematicaRussel Nash 2007Ainda não há avaliações
- Contos de Vampiro e Terror PDFDocumento4 páginasContos de Vampiro e Terror PDFRussel Nash 2007Ainda não há avaliações
- Fonseca 2006 PDFDocumento13 páginasFonseca 2006 PDFLuís Filipe PintoAinda não há avaliações
- Relação Entre O Hiv/Sida Com O Crescimento Econômico Da África Subsaariana No Período de 2000 A 2017Documento37 páginasRelação Entre O Hiv/Sida Com O Crescimento Econômico Da África Subsaariana No Período de 2000 A 2017Simba SairoAinda não há avaliações
- A4 - Cartas - Cobras e EscadasDocumento7 páginasA4 - Cartas - Cobras e EscadasAnaAzevedo100% (8)
- Monografia - Currículo Escolar Na Unidade de EnsinoDocumento53 páginasMonografia - Currículo Escolar Na Unidade de EnsinoJose JesusAinda não há avaliações
- Eduardo Livro E Book Guia CompletoDocumento37 páginasEduardo Livro E Book Guia CompletoMaria Helena100% (1)
- Kinesiologia UnificadaDocumento2 páginasKinesiologia UnificadaManuel Gomes100% (1)
- Resenha Descritiva 1Documento4 páginasResenha Descritiva 1Carla H. de Faria DominguesAinda não há avaliações
- O Livro Das Semelhancas - Ana Martins MarquesDocumento94 páginasO Livro Das Semelhancas - Ana Martins MarquesBruno Latorre II100% (7)
- UntitledDocumento408 páginasUntitledFi SousaAinda não há avaliações
- TCC RecreaçãoDocumento8 páginasTCC RecreaçãoGeovani De Souza PereiraAinda não há avaliações
- COLETANEA DE ATIVIDADES CIA - CapacitaçãoDocumento63 páginasCOLETANEA DE ATIVIDADES CIA - CapacitaçãoWaldimar PereiraAinda não há avaliações
- Educação Infantil: Desafios E Perspectivas: ResumoDocumento15 páginasEducação Infantil: Desafios E Perspectivas: ResumoBruno RafaelAinda não há avaliações
- Supervisão E Orientação EscolarDocumento119 páginasSupervisão E Orientação EscolarRafael Lemos LibardiAinda não há avaliações
- Dança Com Materiais Diversos PDFDocumento3 páginasDança Com Materiais Diversos PDFlovelessbaka100% (1)
- Cartilha Piracicaba Pse 21 22Documento19 páginasCartilha Piracicaba Pse 21 22Edna JanAinda não há avaliações
- Atividades 2020: Caderno deDocumento47 páginasAtividades 2020: Caderno deUdison Brito OliveiraAinda não há avaliações
- Anton Reiser - Karl Philip MoritzDocumento369 páginasAnton Reiser - Karl Philip MoritzJoão MendesAinda não há avaliações
- Integração SensorialDocumento6 páginasIntegração SensorialKarla100% (2)
- Estilos ParentaisDocumento5 páginasEstilos ParentaisEdna Basílio100% (1)
- Critérios de Classificação Avaliação Teórica UFCD 10660 PDFDocumento3 páginasCritérios de Classificação Avaliação Teórica UFCD 10660 PDFHelena Martinho0% (1)
- Funcab Questoes Portugues PDFDocumento195 páginasFuncab Questoes Portugues PDFmarcelo007msn100% (1)
- Brincar Jogar e AprenderDocumento4 páginasBrincar Jogar e Aprenderapi-3711729100% (1)
- Apostila 03 Consciencia Fonologica PalavrasDocumento34 páginasApostila 03 Consciencia Fonologica PalavrasLuiz Felipe ErmelAinda não há avaliações