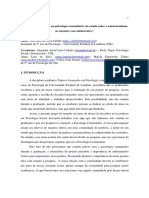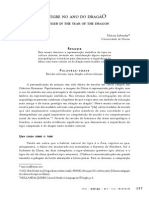Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
As Tramas Psicossociais Da Cooperação e Da Competição em Diferentes Contextos de Trabalho
As Tramas Psicossociais Da Cooperação e Da Competição em Diferentes Contextos de Trabalho
Enviado por
Eduarda Wolf0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações13 páginascooperação e competição
Título original
As Tramas Psicossociais Da Cooperação e Da Competição Em Diferentes Contextos de Trabalho
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentocooperação e competição
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações13 páginasAs Tramas Psicossociais Da Cooperação e Da Competição em Diferentes Contextos de Trabalho
As Tramas Psicossociais Da Cooperação e Da Competição em Diferentes Contextos de Trabalho
Enviado por
Eduarda Wolfcooperação e competição
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 2
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 3
ARTIGOS
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em
diferentes contextos de trabalho
1
The psychosocial meshes of cooperation and competition in different
work contexts
Leny Sato
Livre Docente. Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Instituto de Psicologia. Universidade de
So Paulo. (USP). So Paulo. So Paulo. Brasil.
lenysato@usp.br
Cris Fernndez Andrada
Doutoranda. Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Instituto de Psicologia. Universidade de
So Paulo. (USP). So Paulo. Brasil.
andrada@usp.br
Iolanda Maria Alves vora
Pesquisadora. Centro de Estudos sobre frica e do Desenvolvimento. Instituto Superior de Economia e
Gesto. Universidade Tcnica de Lisboa. Lisboa. Portugal.
ioevora@hotmail.com
Tatiana Freitas Stockler das Neves
Psicloga. Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Instituto de Psicologia. Universidade de So
Paulo. (USP). So Paulo. Brasil.
tatineves@hotmail.com
Fbio de Oliveira
Docente. Departamento de Psicologia Social. Faculdade de Cincias Humanas e da Sade. Pontifcia
Universidade Catlica de So Paulo. (PUCSP) So Paulo. So Paulo. Brasil.
Psiclogo. Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Instituto de Psicologia. Universidade de So
Paulo. So Paulo. (USP). Brasil.
faboli@uol.com.br
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Resumo
Argumenta-se a favor da abordagem dos aspectos que sustentam a cooperao e a competio, como
prticas sociais, nas suas implicaes em termos psicossociais e nos sentidos a elas atribudos em
diferentes contextos de trabalho. Nos estudos de caso discutidos, a cooperao na empresa capitalista,
que ignora a competio entre os diferentes interesses dos operrios, revela seu limite; na feira livre,
as regras que controlam e regulam a estreita convivncia entre os feirantes (fortemente baseadas
na cultura e na histria) sinalizam os limites da competio e desfazem a ideia de que cooperao e
competio seriam mutuamente exclusivas; por fm, em cooperativas autogeridas, a cooperao formal
e a conformao de acordos coletivos exige, simultaneamente, o confronto ou a competio entre pontos
de vista. Esta leitura das diversas relaes entre cooperao e competio mostra que elas estabelecem
confguraes peculiares, de acordo com a estrutura social e os valores sociais, a histria, a tradio e a
cultura.
Palavras-chave: Psicologia social do trabalho, Processos organizativos, Micropoltica, Cooperao,
Competio.
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 2
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 3
The psychosocial meshes of cooperation and competition in different work contexts
Abstract
In this paper we approach the aspects that underpin cooperation and competition as social practices
in their psychosocial implications and the meanings attributed to them in different work contexts. In
the case studies discussed, cooperation within the capitalist enterprise, which ignores the competition
between different interests of workers, shows its limits in street markets: the rules that control and
regulate the close interactions between the sellers (strongly based on culture and history) expose
the limits of competition and cancel out the idea that cooperation and competition would be mutually
exclusive. Finally, in self-managed cooperatives, formal cooperation and the constitution of collective
agreements simultaneously demand either confrontation or competition between points of view. This
reading of the various relationships between cooperation and competition shows that they establish
unique confgurations according to the social structure and social values, history, tradition and culture.
Keywords: Social psychology of work, Organizational processes, Micropolitics, Cooperation,
Competition.
Introduo
A discusso sobre cooperao e competio abre a possibilidade de refexo sobre diversos fenmenos
estudados no mbito da psicologia social voltada ao estudo do trabalho e dos processos organizativos.
O que primeiro se observa quando nos dedicamos a refetir sobre esses dois termos que eles
frequentemente apresentam-se juntos. Parece, ento, que o signifcado de uma palavra s se completa
quando colocada ao lado da outra. Alm disso, o fato de estarmos frente a um binmio conduz-nos a
pensar: qual tipo de relao ele comporta: complementariedade, oposio ou, ainda, uma relao de
contradio?
Ao recorrer etimologia, verifca-se que competio origina-se do latim competerem (Faria, 1967),
que signifca pretender algo simultaneamente com outrem, rivalizar e concorrer (Ferreira, 1987);
concorrncia a uma mesma pretenso por parte de duas ou mais pessoas ou grupos (Houaiss & Villar,
2001)
2
. Cooperao, por sua vez, tem sua origem em cooperatione, que signifca atuar, juntamente
com os outros, para um mesmo fm; contribuir com trabalho, esforos, auxlio; signifca tambm
colaborao e ao conjunta (Houaiss & Villar, 2001).
Se formos guiados pelo que mais comumente se concebe, concluiremos que em seu uso corrente essas
duas palavras manteriam entre si uma relao de oposio. A cooperao uniria as pessoas pelos
objetivos comuns e a competio as afastaria, justamente pelo motivo oposto.
Autores considerados pioneiros na aplicao desses conceitos aos contextos organizacionais tradicionais
(Chen, Chen & Meindl, 1978) defnem que uma situao de cooperao se os objetivos dos
participantes so positivamente relacionados, mas competitiva se os objetivos so negativamente
relacionados uns aos outros (Deutsch, 1949; Tjosvold, 1998).
Tambm comum pensar a cooperao ou a competio em si mesmas, como algo essencialmente
bom ou ruim, independentemente dos contextos sociais e histricos. A concepo de que a cooperao
ou a competio so boas ou ruins para a convivncia das pessoas que as praticam, por exemplo, est
prxima ao que a Encyclopedia of psychology (1984) informa. Segundo essa enciclopdia, os termos
competio e cooperao foram inicialmente objetos de interesse de estudos de flsofos e de
telogos. Para eles, a competio remeteria ao egosmo e aos comportamentos antissociais, enquanto a
cooperao seria uma virtude social. Nessa perspectiva, a ao cooperativa e a ao competitiva seriam
estudadas focalizando-se o comportamento dos indivduos isolados, o que ser problematizado adiante.
Por fm, nos estudos de psicologia social, cooperao e competio so modalidades de ao levadas em
conta no estudo das interaes sociais, dos processos grupais, da dinmica organizacional, da liderana,
dentre outros temas.
O clssico estudo de Kurt Lewin (1939/1970), que analisa as diferentes modalidades de liderana
autocrtica, democrtica e laissez-faire e suas implicaes para a cooperao e para a competio,
traz ensinamentos importantes para compreender-se a relao entre contexto e pessoa. Esse estudo
deixa clara a impropriedade das leituras que analisam a interao, mas que desconsideram o contexto
no qual as pessoas esto. Esse avano terico esvazia o mito da universalidade das representaes e
das prticas organizacionais.
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 4
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 5
Em sua contribuio para uma leitura da psicologia social voltada ao estudo dos processos de
cooperao e de competio, Lewin analisou o experimento de Lippitt (Lewin, 1970), no qual grupos
de crianas tinham que conviver, interagir e desenvolver atividades sob diferentes tipos de lideranas.
Um achado seminal foi o de que as crianas no so, em si mesmas, mais propensas a provocarem ou
a envolverem-se em confitos, a serem competitivas ou a cooperarem. Essa constatao, que inspira o
presente artigo, pe limites a uma leitura solipsista que abstrai as pessoas e suas interaes do lugar e
das condies em que elas se encontram. O recurso tradio de Kurt Lewin tambm esclarece a noo
de psicossocial adotada neste artigo: compreendemos psicossocial como a interface entre os indivduos
e a sociedade.
Cooperao, competio e valores sociais
Na mesma linha de argumentao, Ogburn e Nimkoff (1953/1980) consideram que cooperao e
competio so processos sociais bsicos cujas presenas dependem tanto da estrutura, que aloca as
pessoas no espao social, como dos valores sociais, ou seja, a cultura.
A depender de seus valores, encontraremos sociedades que estimulam a competio ou a cooperao.
Por exemplo: a sociedade capitalista incentiva a competio entre as pessoas. Nela, vemos como o
discurso da habilidade e da competncia tem sido usado para estimular a competio, pautando-se
na ideia de que vencer depende de caractersticas pessoais ou psicolgicas (Bendassolli, 2001). Nesse
sentido, a competio forneceria a medida da experincia, da prtica e das qualidades das pessoas
situando-as diferentemente em relao ao sistema econmico. Em um contexto de desemprego
estrutural, tal ideologia, por um lado, traduz-se em formas de culpabilizao dos trabalhadores pelo
desemprego enfrentado (Neves, 2006) e, por outro, fomenta ainda mais a concorrncia entre os pobres
que trabalham nos setores degradados e fexveis do mercado de trabalho e os desempregados de longa
durao que esto distantes do chamado mercado formal (Paugam, 2009).
3
H outras sociedades nas quais, por sua vez, a cooperao, a solidariedade e a ajuda mtua so valores
importantes, que orientam as relaes sociais e interpessoais.
Marcel Mauss, ao tratar dos sistemas de trocas e contratos aparentemente voluntrios, mas na verdade
obrigatoriamente dados e retribudos (Mauss, 2003, p. 187) no sistema de prestaes econmicas em
sociedades antigas, aponta que:
Nas economias e nos direitos que precederam os nossos, nunca se constatam, por assim dizer, simples
trocas de bens, de riquezas e de produtos num mercado estabelecido entre os indivduos. Em primeiro
lugar, no so indivduos, so coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam; as
pessoas presentes ao contrato so pessoas morais: cls, tribos e famlias, que se enfrentam e se opem
seja em grupos frente a frente, seja por intermdio de seus chefes, seja ainda dessas duas maneiras
ao mesmo tempo. Ademais, o que eles trocam no so exclusivamente bens e riquezas, bens mveis
e imveis, coisas teis economicamente. So antes de tudo, amabilidades, banquetes, ritos, servios
militares, mulheres, crianas, danas, festas, feiras, dos quais o mercado apenas um dos momentos,
e nos quais a circulao de riquezas no seno um dos termos de um contrato bem mais geral e bem
mais permanente. Enfm, essas prestaes e contraprestaes se estabelecem de uma forma sobretudo
voluntria, por meio de regalos, presentes, embora elas sejam no fundo rigorosamente obrigatrias, sob
pena de guerra privada ou pblica (pp. 190-191).
Tal sistema persiste na sociedade moderna,
4
em que nem tudo ainda classifcado exclusivamente
em termos de compra e venda (Mauss, 2003, p. 294). Baseia-se, sobretudo, nas relaes pessoais,
de amizade, camaradagem e vizinhana e pressupe reciprocidade e confana, em um circuito de dar,
receber e retribuir. No esprito da ddiva, os valores e as intenes pessoais fguram em primeiro plano;
entretanto, esse circuito adquire materialidade por meio de ajuda fnanceira e de ajuda e troca no
trabalho.
Esse o sentido do termo crioulo djunta-mon, juntar as mos, que, como dizem os cabo-verdianos,
uma forma de entre-ajuda. Construir casas, trabalhar a terra so os momentos tradicionais do
djunta-mon. Ele remete a um conjunto de valores em que ajudar e ser ajudado fazem parte do que
considerado normal na sociedade cabo-verdiana, de tal modo que esse sistema de contraprestao
de servios pratica-se mesmo, em alguma escala, entre as comunidades cabo-verdianas na emigrao
(vora, 1996, 2002).
Tanomo-shi, palavra japonesa, signifca pedir ajuda a algum em quem se confa. Ela designa as
associaes de fnanciamento mtuo, uma espcie de consrcio de dinheiro praticado pelos japoneses,
baseadas nas relaes de amizade e de confana, prescindindo de qualquer compromisso por escrito.
Mensalmente os participantes do tanomoshi renem-se, ocasio na qual cada um contribui com o
valor estipulado e um deles recebe o montante arrecadado. Tais encontros tambm so uma ocasio
de congraamento. Essas prticas de ajuda mtua so formas socialmente criadas para lidar com a
necessidade de sobrevivncia do grupo. O tanomoshi, por exemplo, foi comum entre os imigrantes
japoneses no Brasil.
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 4
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 5
Essa mesma prtica recebe o nome de totocaixa em Cabo Verde (Grassi, 2002) e de kixikila em Angola
(Lopes, 2007). O totocaixa pratica-se mesmo em ambientes formais de trabalho, entre funcionrios
de uma mesma repartio ou departamento, e dissolve, momentaneamente, as hierarquias, pois nele
podem participar pessoas colocadas em diferentes nveis funcionais.
No Brasil, so conhecidas as prticas adotadas pelos membros das classes populares, habituados a
construir suas prprias casas, uma das muitas manifestaes da nanoeconomia discutida por Spink
(2009). Nesse processo, encher a laje um acontecimento social, no qual colegas, parentes e vizinhos,
homens e mulheres juntam-se para realizar a tarefa imbudos de um esprito de reciprocidade, isto
, em um sistema de obrigaes recprocas. Em tais ocasies, trabalho duro e sociabilidade se unem,
muitas vezes coroados com churrasco ou feijoada.
Em geral, essas prticas so formas de ajuda mtua criadas por segmentos pobres da populao, que
no contam com o apoio de polticas pblicas e cuja sobrevivncia depende sobremaneira de relaes de
cooperao e reciprocidade (Abramovay et al., 2004). So a tradio e a cultura que fornecem suporte
sua construo.
Essas modalidades tm sido recuperadas na Amrica Latina como forma de prover o microcrdito no
mbito da Economia Solidria (Red Aura, 2005).
Cooperao, competio e estrutura social
De um ponto de vista macropoltico, constata-se que as prticas cooperativas ou competitivas podem
ser estimuladas pela estrutura social, que aloca pessoas em distintas posies no campo social e
circunscreve (no sentido de pr limites) possibilidades de vnculos sociais, dados os interesses criados
e que se fazem presentes, independentemente das pessoas que ocupam essas posies. Interesses de
classe, por exemplo, podem estimular a cooperao ou a competio.
Analisando especifcamente as situaes de trabalho, Karl Marx nos oferece uma importante contribuio
para a compreenso das relaes entre classes. Em O Capital, Marx afrma que a cooperao a base
necessria para que o capitalismo se construa e se consolide. Nesse sentido, ela seria o substrato
essencial para organizar o processo de trabalho no capitalismo. Segundo Marx (1890/1980):
Chama-se cooperao a forma de trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com um plano,
no mesmo processo de produo ou em processos de produo diferentes mas conexos (p. 374).
Quanto capacidade de trabalho, h uma diferena importante em termos de tempo necessrio para
realizar as atividades em funo da cooperao. Marx escreve:
O poder de ataque de um esquadro de cavalaria ou o poder de resistncia de um regimento de
infantaria difere essencialmente da soma das foras individuais de cada cavalariano ou de cada infante.
(...) O efeito do trabalho combinado no poderia ser produzido pelo trabalho individual, e s o seria num
espao de tempo muito mais longo ou numa escala muito reduzida (p. 374).
Assim, um dos elementos importantes que est presente na cooperao o fato de o trabalhador
coletivo conseguir superar todos os limites que tm os trabalhadores individuais, desenvolvendo a
capacidade de sua espcie (p. 378).
A convivncia de muitos trabalhadores, continua Marx, tem implicaes sociais porque o simples contato
entre eles na maioria dos trabalhos produtivos, provoca emulao entre os participantes, animando-os
e estimulando-os, o que aumenta a capacidade de realizao de cada um (p. 375). Ao mesmo tempo,
paradoxalmente, essa convivncia a base para as aes de resistncia poltica dos trabalhadores.
Embora a cooperao seja a base necessria para a construo do capitalismo, no exclusividade sua.
No capitalismo, cooperar tem um sentido preciso: trata-se da ao conjunta com vistas a reproduzir o
capital. Em essncia, os que cooperam fazem-no segundo o plano defnido por outrem (portanto, no h
objetivo comum entre trabalhadores e capitalistas) e em benefcio da construo da riqueza de outrem.
Nesse contexto, a cooperao sustentada pela ideologia.
A concepo de Frederick Taylor, de que haveria identidade de interesse de empregadores e
empregados, uma clara expresso dessa viso ideolgica da cooperao.
Essa concepo faz-se presente atualmente no iderio do trabalhador-colaborador. Em combinaes
entre o modelo taylorista-fordista e o modelo toyotista de produo, apropriados pela realidade
brasileira, constitui-se um discurso em que os trabalhadores, ao invs de apenas executarem um
trabalho pr-defnido por outrem, deveriam trazer seus conhecimentos e experincias para solucionar
problemas cotidianos de trabalho atravs da proposio de projetos que aumentem a lucratividade e a
competitividade da empresa em que se trabalha. Nesse caso, colaborao passa a ser uma exigncia
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 6
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 7
e seu destino deve voltar-se para os interesses da empresa. Assim, propostas que visem a melhoria
das condies de trabalho, por exemplo, com diminuio da carga de trabalho, contratao de mais
trabalhadores e reduo da margem de lucro, ou so ignoradas ou colocadas como afrontas ou desvios
do bom funcionamento da organizao.
O esprito de cooperao entre os trabalhadores e destes com a empresa aproxima-se da ideia de
uma constante confuncia de interesses que, por sua vez, pode mascarar confitos em uma organizao
apresentada como um todo harmnico (Antunes, 2001; Busnardo, 2003; Hespanhol, 2009;
Prilleltensky, 1994).
Dado que a cooperao pode estar presente em diversos sistemas polticos e econmicos, suas
implicaes em termos psicossociais tambm sero mltiplas, tanto quanto os sentidos a ela atribudos.
Assim, para se compreender a quais propsitos e interesses a cooperao responde, necessrio que se
considere tanto a estrutura social, os valores sociais presentes, como tambm quem so seus principais
benefcirios.
5
Micropoltica
Alm do arcabouo macropoltico, tambm importante considerar outros elementos que nos auxiliem
a olhar a poltica praticada no dia a dia de trabalho. Referimo-nos poltica das interaes face a face
as que acontecem nas breves discusses, nos pequenos debates na hora do cafezinho, nas conversas
de corredor ou seja, micropoltica. Esses so fenmenos que a psicologia social pode ajudar a
compreender (Sato, 2009).
Em termos tericos, a dinmica organizacional pode ser entendida como fuxos de interaes sociais
e simblicas em que os mltiplos interesses orientam a ao das pessoas, produzindo tanto coalizes
6
como dissenses
7
(Spink, 1996).
Para Hannah Arendt (1958/2000), os interesses tambm orientam os movimentos da pessoa no mundo,
mundo que se interpe nas relaes entre as pessoas e que origem de seus interesses especfcos.
Para a autora, estes interesses constituem, na acepo mais literal da palavra, algo que inter-essa, que
est entre as pessoas e que, portanto, as relaciona e as interliga (p. 195).
Importante notar que os interesses esto relacionados s posies ocupadas pelas pessoas no espao
social, s motivaes pessoais e aos projetos e anseios. H o interesse do cargo ou funo, o da vida
pessoal, o da posio de classe.
Para Morgan, ecoando Rancire (1996), a poltica organizacional emerge quando as pessoas pensam
diferentemente e querem agir diferentemente. Essa diversidade cria uma tenso que deve ser resolvida
atravs de meios polticos (p. 148).
nesse cenrio que as dinmicas competitivas ou cooperativas atravessam-se mutuamente, pois
talvez poucas situaes da vida real confgurem-se como estritamente cooperativas ou estritamente
competitivas. Isso faz com que a dinmica cooperativa e competitiva seja complexa, contraditria e
ambgua, pois o comum que se tenha um conjunto complexo de objetivos primrios e objetivos
secundrios (Deustch, 1975, p. 513). Sendo assim, em um determinado momento, pessoas podem
assumir posies opostas e, no momento seguinte, podem defender interesses e pontos de vista muito
prximos, atuando em coalizo.
Deve-se apontar, ainda, que a competio pode confgurar-se como disputa entre ponto de vistas
divergentes na concretizao de um objetivo comum, cujas consequncias afetam de igual modo a todos
os envolvidos, ou como disputa entre sujeitos que visam objetivos diferentes e que colidem entre si.
Cooperao e competio em contexto
Tendo em vista os elementos acima apontados, discutiremos alguns exemplos colhidos em pesquisas
de campo. As situaes descritas a seguir possibilitam exemplifcar uma leitura da psicologia social que
contribui para a compreenso da poltica praticada no cotidiano ao considerar os contextos nos quais a
cooperao e a competio ocorrem.
Primeiramente, relatamos um episdio, envolvendo diversas pessoas em um mesmo processo de
trabalho, que teve como contexto uma grande fbrica capitalista (Sato, 1998). Posteriormente,
apresentamos algumas situaes observadas em uma feira livre, um contexto de trabalho marcado
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 6
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 7
pela convivncia entre diversos pequenos proprietrios (Sato, 2006). Por fm, reunimos alguns
acontecimentos observados em cooperativas e que ilustram contextos de autogesto (Andrada, 2005;
Esteves, 2004; vora, 1996).
O primeiro caso (Sato, 1998) mostra, sobretudo, que a cooperao para a realizao dos objetivos do
capital no interior de uma empresa capitalista tem limites e tambm como a competio de interesses
divergentes (alusivos ao cargo, tarefa, ao coletivo e ao indivduo, por exemplo) pode ser explicitada
pelos operrios.
Esse caso ilustra o processo em que um grupo de operrios toma a iniciativa de rever alguns
procedimentos do processo de trabalho que os prejudicavam, considerando que seus interesses haviam
sido preteridos. Trata-se da fabricao de sorvetes de massa, envasados em potes de plstico branco e
comercializados em supermercados e padarias.
O processo de trabalho envolve duas linhas de produo: a de carimbo de embalagens (por impresso
a jato de tinta) e a de envasamento do produto. A primeira linha alimenta a segunda com os potes
com data, nmero de lote, unidade fabril e horrio de fabricao j carimbados. Na segunda linha, os
produtos ganham feio fnal, com os rtulos da marca da fbrica, tal qual chegam ao consumidor, o que
confere identidade fbrica e ao produto.
Espacialmente, as linhas esto em andares diferentes, a de carimbo est alocada no subsolo (a linha
de baixo, operada pelos chamados meninos) e a de envasamento do sorvete, no trreo (a linha
de cima, onde trabalham os operadores e as mulheres). Essa alocao, percebida e expressa na
nomeao das linhas, materializa uma hierarquia social e poltica entre os operrios das duas, que
justifcaria a prerrogativa dos de cima sobre os de baixo na forma de uma ideologia organizacional.
O caso
8
em questo tem incio com a insatisfao dos operrios da linha de carimbo com a soluo dada
a um problema que se d na interface entre as duas linhas, levando-os a question-la.
O caso motivado pelo seguinte fato: para fns de segurana e controle, deve haver sincronia entre o
horrio de envasamento dos produtos e aquele impresso nos vasilhames. Quando isso no ocorre, os
dados j impressos so apagados para os vasilhames serem reutilizados. Trata-se de um retrabalho
manual, feito pelos carimbadores sem a ajuda dos operrios das outras linhas, no qual se apaga o
carimbo, vasilhame por vasilhame, com um chumao de algodo embebido em lcool.
Diante do descontentamento com esse procedimento, que signifcava maior volume de trabalho, um
trabalho considerado ruim, os carimbadores comearam a estudar a situao e a identifcar mecanismos
para verem-se livres do retrabalho.
O primeiro passo por eles adotado foi analisar o processo de trabalho, visando identifcar quais tipos
de repercusso a falta de sincronia geraria. Identifcaram que, quando isso acontecia, os operadores
de mquinas responsveis pelas linhas de cima tinham que preencher um relatrio informando a
intercorrncia. Esse fato, na verdade, poderia depor contra eles prprios, uma vez que a intercorrncia
poderia ser interpretada pela gerncia como falta de competncia dos operadores.
Continuando sua pesquisa, os carimbadores observaram que o risco de degradao da qualidade
do produto aumentava quando se envasava sorvete em vasilhames excessivamente manuseados
(carimbados e apagados), aumentando a probabilidade de perda de material e de contaminao do
produto. Assim, o retrabalho feito pelos carimbadores no era bom nem para os operadores, nem para
os supervisores, nem para os lderes, nem para o gerente de produo. Em resumo, todos os interesses
eram contrariados.
Com essas informaes, os meninos buscavam construir argumentos que fossem aceitos em uma
condio de forte assimetria de poder e de controle (Certeau, 1998). Em um contexto cuja expectativa
de que os operrios cooperem com o capital e com a gerncia (Taylor, 1982), era necessrio que os
interesses dos carimbadores fossem escudados pelos interesses gerenciais. Em primeiro plano, deveria
fgurar o argumento da qualidade e produtividade, e no os do desconforto e insatisfao.
Aps um longo processo de negociao dos carimbadores com a superviso de fbrica, o processo
mudou. Os carimbadores requeriam um procedimento aparentemente simples: o de que fossem
avisados quando alguma mquina da linha de cima parasse de envasar.
Apenas aparentemente, porque essa alterao demandou a mudana de status dos trabalhadores da
linha de cima em relao aos da linha de baixo. Os carimbadores, na verdade, reclamavam para que
a linha de baixo fosse considerada em sua singularidade, procurando desfazer a imagem de que ela era
somente um prolongamento da de cima e de que, portanto, os interesses de ambas seriam idnticos,
sem que houvesse diferena e competio.
Ao fnal desse processo, a mudana observada no exigiu a adoo ou criao de tecnologias
sofsticadas, mas apenas a preocupao em avisar os carimbadores sobre o andamento da linha de
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 8
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 9
cima, atravs de um telefonema ou de um grito pelo elevador de transporte de embalagens. Eles
delimitaram as fronteiras entre linhas de produo, evitando o desconforto de terem seus interesses
preteridos.
Entre a competio dos diferentes interesses e a cooperao forada que ignora essa diferena, ocorreu
a busca de negociao por meio de um processo de argumentao que apontava outras possibilidades
de relao entre as linhas. Esse caso mostra a astcia do fraco (Certeau, 1998) necessria para
se conseguir pr limites cooperao que se espera, seja ilimitada e a qualquer custo entre
trabalhadores a favor do capital.
Considerando-se o mbito de alcance possvel dessa micronegociao, Josildo, o porta-voz do grupo
de carimbadores, informa que essa pequena mudana teve repercusses de dimenses considerveis,
como, por exemplo, aumento do perodo e da quantidade de pausas, reduo do volume de trabalho,
concluso das tarefas mais cedo e limpeza e organizao da linha para os colegas do turno seguinte.
Agora, dizia ele,
a gente no fca s carimbando, carimbando, sem saber quanto mais vai ter que fazer. Eu levo a minha
mquina de calcular e vejo quanto eu tenho que imprimir, vendo a programao da fbrica, e se d pra
dar mais uma paradinha ou se a gente corre um pouco mais, ou se a gente pode aumentar o intervalo
do caf...
O segundo caso trata da organizao e do trabalho na feira livre (Sato, 2006). Em termos de
organizao, a feira livre exemplifca a convivncia necessria de unidades autnomas. sobre essa
base que a feira organizada.
Celso, feirante h mais de 20 anos, afrma: Feira tem que ter feirante. Sua afrmao, a princpio
bvia, sintetiza uma das principais caractersticas da feira livre: feira substantivo coletivo. Embora
cada uma das bancas (ou o feirante ambulante) seja uma unidade autnoma, ela depende fortemente
da presena de outras para existir. Essa dependncia mtua d-se em um crescendo e cada feirante,
cada banca, em cada uma das feiras, tem sua existncia soldada dos outros.
A exigncia de uma estreita convivncia ponto polmico entre os feirantes, tanto pelas possibilidades
abertas, como pelas restries impostas e, por isso, o feirante vive na tenso entre dois polos opostos:
competio e cooperao.
Juca, que oveiro, avalia que necessrio ter outros feirantes que comercializem o mesmo produto
que ele:
a freguesa compara os preos; aquele feirante l embaixo, vende a mercadoria mais cara que eu. Pode
at ser que ele venda mais do que eu, mas se s tivesse eu aqui que vendesse ovo, a freguesa no tinha
como saber se eu t vendendo caro ou barato!
Aqui, Juca informa que a confana e a conquista da freguesia infuenciada pela comparao com a
concorrncia. Em sua avaliao, a competio condio necessria para a existncia da feira livre.
Defendendo ponto de vista oposto, Marcos, proprietrio de banca de cereais e de cebola, avalia que a
existncia de outras bancas que comercializam os mesmos produtos tolhe a sua liberdade para trabalhar
do jeito que ele considera adequado, ou seja, de criar regras prprias para seu negcio.
Se, de um lado, h situaes de competio desconfortveis e que interferem de modo vital no trabalho
e nos ganhos do feirante, h outras situaes que mostram uma cooperao inusitada, como relato a
seguir.
Edvando fruteiro. Sua banca instalada prxima de seu concorrente, Lus. O desenho da feira tal
que se formam duas fleiras centrais de bancas muito prximas. Como so instaladas umas de costas
para as outras, cria-se um espao comum de bastidor, onde caixas de mercadorias so guardadas, onde
os feirantes transitam de uma banca para outra mais facilmente e feirantes de bancas diferentes podem
conversar mais continuamente, dividir um lanche ou refrigerante.
O caso presenciado ocorreu no momento em que havia pouco movimento de compradores na banca de
Edvando, contrastando com o observado na de Lus.
Ao ver que sua banca exigia-lhe pouco trabalho e que na do vizinho a ajuda seria bem-vinda, Edvando
volta-se para a banca de Lus, postando-se como mais um de seus ajudantes e, de frente para a
freguesia de Lus, pe-se a atend-la. Passado o pico de movimento, cada qual assume novamente a
prpria banca. Fica, assim, subentendido, que em um outro momento, Lus pode ajudar Edvando.
Competio e cooperao so elos inseparveis e podem ocorrer em momentos contguos, como trazido
pelo exemplo de Dona Jurema, verdureira. Quando alguma mercadoria lhe falta, dirige-se banca de
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 8
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 9
seu vizinho, Incio, tambm verdureiro, e, sem precisar consult-lo, toma-lhe a mercadoria emprestada
para atender sua freguesa.
No momento seguinte, entretanto, Dona Jurema pode dirigir a Incio frases que o critiquem por
marretar, ou seja, por praticar preos to baixos que os outros feirantes no tm condies de
acompanh-lo. Tal crtica denuncia uma competio desleal.
O que garante um mnimo de equilbrio para a convivncia entre os feirantes a defnio dos limites
para a competio.
O equilbrio entre cooperar e competir alcanado pelo respeito a uma deontologia especfca do mtier
criada pelos prprios feirantes. So eles prprios que criam mecanismos que controlam e regulam a
competio entre as unidades produtivas. Criam regras de convivncia que esto fortemente baseadas
na cultura e na tradio. Essas defnem os procedimentos aceitveis, sinalizando at que ponto a
competio compatvel com a convivncia entre as unidades produtivas sem implicar em autofagia.
A feira livre no tem clientes, no tem compradoras, no tem consumidoras: tem freguesas. Freguesa
signifca ser fel. Alm da relao comercial, h relaes de amizade. Uma das regras consiste em
respeitar essa fdelidade.
Muitas dessas regras que limitam uma possvel competio desleal, so tcitas. Elas no so
formuladas, no so ditas, mas esto presentes nas prticas do dia a dia e so necessrias para a
organizao e para a existncia da feira livre. A explicitao dessas regras d-se quando elas so
quebradas, ou seja, apenas no momento em que no so seguidas que sua existncia tornada
pblica (Garfnkel, 1967).
Tais regras possibilitam, por sua vez, a permanncia e a recriao cotidiana da feira livre frente
concorrncia e competio com grandes redes de supermercados. Nesse embate, os feirantes dispem
de diferenciais, como o frescor e a diversidade dos produtos, a pessoalidade na relao entre o feirante e
o fregus, o espao de encontros, o hbito familiar de frequentar a feira.
Como contraponto, os supermercados oferecem facilidades, como pagamento eletrnico (cujo custo
muito alto para grande parte dos feirantes), estacionamento prprio, espao coberto, horrios
diferenciados de atendimento (Arajo, 2009; Marques, 2009; Sato, 2006).
No caso da feira livre, quatro aspectos merecem ser pontuados. Primeiro, a competio entre os
feirantes pode ser considerada necessria para a existncia desse comrcio, como observaram alguns
deles. Segundo, cooperao e competio mantm estreita convivncia nesse contexto, o que desfaz
a ideia de que esses fenmenos seriam mutuamente exclusivos. Terceiro, em um contexto de relaes
horizontais de poder, os feirantes criam mecanismos para limitar a competio, que poderia levar
autofagia do tecido social da feira. Quarto, na feira livre os feirantes no esto apenas competindo entre
si, mas tambm a feira livre est em concorrncia com outros comrcios (supermercados etc.), o que
pode imprimir certas lgicas e valores de convivncia entre os feirantes.
O terceiro exemplo vem do campo da Economia Solidria, movimento que tem incentivado, entre outros,
a construo de cooperativas autogeridas.
Aqui, a cooperao, no sentido de ao conjunta, o que sustenta seu funcionamento. Os trabalhadores,
que tambm so os proprietrios do empreendimento, devem discutir assuntos de diversas naturezas,
desde a compra de equipamentos, defnio sobre a forma de organizao do trabalho, estabelecimento
de critrios para as retiradas (a remunerao mensal de cada cooperado). A deciso sobre mltiplos
temas demanda que diversas lgicas sejam trazidas ao debate, de modo que a cooperao no plano
econmico pressupe, e de certa forma exige, a competio poltica entre vises diferentes sobre a
cooperativa.
desejvel (e talvez necessrio, como lastro do carter democrtico do grupo) que a multiplicidade
de vises e interesses encontre espao de expresso e seja explicitada. S dessa forma podero ser
considerados em tomadas de deciso e, assim, serem avaliados, criticados, preteridos ou eleitos como
vlidos pelos cooperados.
So discusses e decises importantes que podem propiciar o sucesso do empreendimento em termos
econmicos, polticos e psicossociais. Econmicos no sentido de ter condies de garantir a gerao de
rendimentos aos trabalhadores; polticos no sentido de conseguir respeitar os princpios da autogesto;
psicossociais no sentido de buscar que as condies e a organizao do trabalho sejam adequadas s
pessoas.
A dinmica micropoltica da cooperativa conformada pelo debate dos diversos pontos de vista, que, por
sua vez, podem contribuir igualmente para a conformao de acordos coletivos (Svartman et al., 2008,
p. 44).
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 10
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 11
O processo de argumentao e de contra-argumentao confgura-se na competio entre tais pontos
de vista. Lembremos que competio, nesse contexto, signifca que pessoas concorrem a uma mesma
pretenso, no caso, de validade do argumento. Nas cooperativas autogeridas, deve-se notar, a
competio d-se em uma situao no hierrquica de poder prxima da condio poltica de igualdade
(Andrada, 2005; Arendt, 2000; Gonalves-Filho, 2001; Parra, 2002).
Tal base possibilita que, em uma cooperativa industrial autogestionria (Uniwidia), criada a partir de
uma empresa privada que faliu (Cerwin), por exemplo:
Longe da harmonia ideal que alguns esperam da igualdade poltica entre os trabalhadores, e igualmente
longe da hierarquia desigual de uma empresa convencional (como dizem os cooperados), o cotidiano
de trabalho da Uniwidia marcado por relaes de proximidade e de controle entre os cooperados, que
se conhecem e no esto mais impedidos de conversar ou discutir durante o trabalho (como na poca
da Cerwin). De um lado, a proximidade e o controle possibilitam pequenas e importantes inovaes
locais, como liberdade, mobilidade e fexibilidade no trabalho, alm de aprendizagem e aperfeioamento
profssional etc. De outro lado, possibilitam atritos, confitos, concorrncias e disputas de interesses
entre os trabalhadores (Esteves, 2004, p. 78).
Nesse caso, os confitos emergem quando diferentes interesses competem entre si: o interesse
empresarial versus o pessoal; o interesse da administrao versus os dos cooperados e os interesses dos
clientes versus os da produo (Esteves, 2004, p. 123).
Tais confitos, por sua vez, expressam tambm dilemas e tenses enfrentados cotidianamente entre
uma outra forma de organizao social e do trabalho, fundada em bases polticas e econmicas mais
igualitrias e comportada pelas cooperativas autogestionrias, e sua insero numa economia capitalista
(Singer, 2004). No caso de cooperativas industriais, esses dilemas exprimem-se, por exemplo, frente
s presses econmicas sofridas pela competio com empresas capitalistas e pelas exigncias dos
compradores no mercado capitalista. Presentifcam-se na tenso entre a intensifcao do trabalho para
aumento da produo e a busca por melhorias das condies de trabalho.
Uma das diferenas, porm, em relao s organizaes heterogestionrias, que, nas cooperativas,
tais dilemas e tenses podem ser tomados como objeto de refexo e debate e orientar as decises
tomadas, considerando certos limites impostos.
Como diz Isaurina, cooperada da Univens (Cooperativa de Costura Unidas Venceremos): So muitas
cabeas com pensamentos diferentes. No fcil (...) Cooperativa isso mesmo. Sempre vai ter esses
confitos, a gente que precisa se acostumar, e nem todo mundo se adapta (Andrada, 2005, p. 106).
Nesse contexto, a gesto coletiva de uma cooperativa deve contemplar o espao para o
encaminhamento e a resoluo dos confitos, que o espao para a negociao possvel tanto em
relao aos prprios cooperados, como em relao posio da cooperativa na estrutura social da qual
faz parte (Sato & Esteves, 2002). Os confitos informam que existe vida poltica ativa no grupo e sua
emergncia acaba sendo a condio para a cooperao o fazer juntos, lado a lado, resolvendo os
problemas que aparecem.
Isaurina refere-se a um confito presente poca envolvendo as cooperadas que trabalham em casa e
elas, que trabalham na sede da cooperativa. Conforme Andrada (2005):
Apesar de apresentar claramente sua posio no confito (em favor do trabalho na sede), ela busca
todo o tempo dialogar com os argumentos opostos, considerando-os com a gravidade necessria.
Desloca-se para a posio de suas colegas, observa questes pessoais e familiares, volta-se novamente
para o grupo, para a cooperativa, em seguida dirige-se para suas colegas do dia a dia, buscando
alguma conciliao e entendimento (...). Parece se tratar de uma tarefa diria, essa refexo. A partir
dessa prtica, tece propostas. Ela me conta a ideia de um rodzio, por exemplo, por meio do qual cada
cooperada trabalharia seis meses em casa e outros seis meses na sede (Dirio de Campo, 11/11/2003,
p. 14) (p. 48).
Um outro caso mostra-nos como a prtica de cooperao encontra-se atravessada pelos jogos e
contradies sobre o que signifca cooperar, nos moldes propostos pelo modelo ofcial (vora, 1996).
Trata-se de situao enfrentada por cooperativas populares de consumo em Cabo Verde. Em tais
cooperativas, verifca-se uma tenso entre a concepo de cooperativa de consumo, defnida a partir
de um simbolismo (dos dirigentes polticos) de igualdade e desenvolvimento, e a sua apropriao pelos
agentes que a interpretam em razo do sentido que cooperar tem para si prprios.
Essa tenso expressa na realidade de pequenas comunidades, em que a regra de no vender a crdito
colide com a impossibilidade de recusar este tipo de venda s pessoas pobres do local que no podem
pagar vista, s quais os cooperados esto ligados por laos de parentesco, proximidade social e nvel
econmico. Ou seja, a existncia dessas tenses revela a natureza de cooperar e de competir como
produto cultural do qual a estrutura ofcial das cooperativas ou o sistema mais alargado de djunta-mon
constituem suportes e desafos.
No tocante ao trabalho autogestionrio, portanto, a cooperao, formal por princpio, exige tambm o
confronto ou a competio entre as diferenas existentes no interior do coletivo e deste no embate com
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 10
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 11
seu contexto maior. Como vimos, preciso, pois, que sejam construdas e resguardadas continuamente
pelos cooperados condies de revelao e de manejo poltico dos confitos inerentes condio desse
tipo de relaes de trabalho, que afnal, se propem democrticas.
Consideraes fnais
Nesta refexo, apresentamos alguns elementos no sentido de mostrar que a psicologia pode contribuir
para a compreenso dos fenmenos humanos caso adote uma leitura que os situe em seus contextos,
opondo-se a uma abordagem substancialista. No caso, o alerta para que no se estude a cooperao e
a competio no trabalho em si mesmas, independentemente dos tipos de relaes de trabalho em que
se manifestam. Fazem parte do contexto, nesta leitura, a estrutura social e os valores sociais, a histria,
a tradio e a cultura.
Competio e cooperao so processos psicossociais fundamentais, pois confguram as interaes
sociais, os processos grupais, a dinmica das organizaes etc. Esses processos, como procuramos
esclarecer, podem alterar-se em funo da dinmica dos interesses envolvidos em uma determinada
situao, confgurada por sua vez em um contexto especfco.
Em contextos e situaes reais, cooperao e competio estabelecem confguraes peculiares, como
pudemos ver nos exemplos acima, de modo que no se pode dizer que sejam apenas relaes de
contradio, oposio ou complementariedade. Cooperao e competio podem conviver de forma
inusitada e complexa, como no caso da feira livre.
Do mesmo modo, na perspectiva dos valores atribudos a cooperar e competir, a cooperao no
a priori algo bom, ela pode, em certas situaes, no benefciar quem a pratica, como no caso
dos trabalhadores da fbrica de sorvetes. A competio, por sua vez, quando baseada em relaes
igualitrias e eticamente reguladas, no necessariamente ruim, mas pode ensejar contradies, o que
revelado nos casos das cooperativas autogestionrias analisadas.
Por outro lado, preciso salientar que as condies para cooperao e competio em cada um dos
exemplos citados no so as mesmas.
No caso da fbrica, a relao existente entre os operrios, e destes com a gerncia e o capital, de
assimetria e de fora, atravs de uma certa coao, explcita ou velada, de que o trabalhador deva
cooperar com a empresa numa direo especfca (produtividade, lucratividade e competitividade da
empresa).
Diferentemente, em um certo sentido, de uma cooperativa autogestionria, em que se busca aproximar
de bases igualitrias ou de uma relao efetivamente de poder entre os trabalhadores.
Nesse caso possvel experienciar no mbito da cooperativa uma dimenso propriamente poltica (por
meio da ao e do discurso), em que as diferenas no sejam aniquiladas pela coero ou pela violncia,
mas em que se sustente a existncia de uma pluralidade (Arendt, 1994, 2000; Gonalves-Filho, 2001).
O reconhecimento do fato de sermos em um s tempo iguais e diferentes permite e exige que pontos de
vista e interesses diversos sejam revelados, compreendidos e, em certos casos, mediados, negociados e
refeitos, constituindo-se, por vezes, espaos pblicos em que se possa tratar daquilo que comum e no
do que prprio (esfera privada).
Das ambiguidades e paradoxos depreendidos no caso das cooperativas, por sua vez, vale lembrar
que elas so atravessadas, no plano econmico, pela competio e pela articulao entre modos de
produo no-capitalista e modos de produo capitalista. J no plano poltico e ideolgico, enfrentam
cotidianamente a confrontao e os arranjos entre os diferentes valores sociais ensejados nesses modos
de produo (Singer, 2004).
A partir desses casos, cabe ainda apontar que os sentidos da cooperao e da competio parecem
distintos no s por se tratarem de diferentes ambientes de trabalho (fbrica, feira livre, cooperativas),
mas tambm por, nesses diferentes ambientes de trabalho, as relaes de fora, violncia ou poder
serem tambm distintas.
Assim, mirar as diversas relaes entre competio e cooperao pede tanto uma compreenso destas
relaes em diferentes contextos culturais e histricos, como uma aproximao do cotidiano de trabalho,
das diversas vises, prticas e processos psicossociais existentes nos empreendimentos. A interpretao
de tais relaes em contextos especfcos de trabalho, por sua vez, pede especial ateno para as
relaes de assimetria ou igualdade existentes.
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 12
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 13
Referncias
Abramovay, R. (2004). A densa vida fnanceira das famlias pobres. In R. Abramovay (Org.), Laos
fnanceiros na luta contra a pobreza (pp. 21-67). So Paulo: Annablume, FAPESP.
Andrada, C. F. (2005). O encontro da poltica com o trabalho: histria e repercusses da experincia de
autogesto das cooperadas da UNIVENS. Dissertao de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade
de So Paulo, So Paulo.
Antunes, R (2001). Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afrmao e a negao do trabalho. So
Paulo: Boitempo.
Arajo, T. B. (2009). A resistncia de uma feira livre em um bairro nobre da Grande So Paulo
(Relatrio de Prtica de Pesquisa em Psicologia Social). So Paulo: IP-USP. [digitado]
Arendt, H. (1994). Sobre a violncia. Rio de Janeiro: Relume Dumar.
Arendt, H. (2000). A condio humana. Rio de Janeiro: Forense Universitria. (Publicado originalmente
em 1958)
Bendassolli, P. F. (2001). O vocabulrio da habilidade e da competncia: algumas consideraes
neopragmticas. Cadernos de Psicologial Social do Trabalho, 3-4, 65-76.
Busnardo, A. M. (2003). Transformaes no trabalho, luta operria e desenraizamento: a reestruturao
produtiva no cotidiano e nas representaes de trabalhadores metalrgicos de uma empresa da regio
do ABC. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 6, 15-34.
Certeau, M. (1998). A inveno do cotidiano: 1 Artes de fazer. Petrpolis, RJ: Vozes.
Chen, C., Chen, X. P. & Meindl, J. (1998). How can cooperation be fostered? The cultural effects of
individualism-collectivism. The Academy of Management Review, 23(2), 285-304.
Deutsch, M. (1949). A Theory of cooperation and competition. Human Relations, 2, 129-152.
Deustch, M. (1975). Os efeitos de cooperao e competio nos processos de grupo. In D. Cartwright &
A. Zander (Orgs.), Dinmica de grupo: pesquisa e teoria (pp. 512-556). So Paulo: EPU, EDUSP.
Esteves, E. G. (2004). Scio, trabalhador, pessoa: negociaes de entendimentos na construo
cotidiana da autogesto de uma cooperativa industrial. Dissertao de Mestrado, Instituto de Psicologia,
Universidade de So Paulo, So Paulo.
vora, I. (1996). As representaes sociais da cooperativa. Um estudo na ilha de Santiago, Cabo Verde.
Dissertao de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de So Paulo, So Paulo.
vora, I. (2002). Cooperativa: poltica de Estado ou cotidiano? O caso de Cabo Verde. Cadernos de
Psicologia Social do Trabalho, 3-4, 9-30.
Eysenck, H. J., Arnold, W. & Meili, R. (1972). Encyclopedia of psychology. New York: Herder & Herder.
Faria, E. (Org.). (1967). Dicionrio Escolar Latino-Portugus. Rio de Janeiro: Companhia Editora
Nacional.
Ferreira, A. B. H. (1987). Novo dicionrio da lngua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Garfnkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Gilbert, D. T., Fiske, S. T. & Lindzey, G. (1998). The handbook of social psychology (vol. 2, 4 ed.). New
York: McGraw-Hill.
Gonalves-Filho, J. M. (2001). Apresentao oral em mesa redonda Cooperao e competio na
vivencia da classe trabalhadora, promovida pela CPAT-IP-USP em 21 de maio de 2001. [transcrio]
Grassi, M. (2003). Rabidantes: comrcio espontneo transnacional em Cabo Verde. Lisboa: Imprensa de
Cincias Sociais, Spleen.
Hespanha, P. et al. (2009). Dicionrio internacional da outra economia. Coimbra: Almedina.
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 12
As tramas psicossociais da cooperao e da competio em diferentes contextos de trabalho
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 13
Hespanhol, M. (2009). Trabalho duro, discurso fexvel: uma anlise das contradies do toyotismo a
partir da vivncia dos trabalhadores. So Paulo: Expresso Popular.
Houaiss, A. & Villar, M. S. (2001). Dicionrio Houaiss de Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva.
Lewin, K. (1970). Experimentos com espao vital. In Problemas de dinmica de grupo. So Paulo: Cultrix
(p. 87-99). (publicado originalmente em 1939)
Lopes, C. M. (2007). Roque Santeiro: entre a fco e a realidade. Estoril: Principia.
Marx, K. (1980). O capital (Crtica da economia poltica, livro 1, vol. 1, pp. 370-385). Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira.
Martins, J. S. (2000). A sociabilidade do homem simples. So Paulo: Hucitec.
Mauss, M. (2003). Ensaio sobre a ddiva: forma e razo da troca nas sociedades arcaicas. In Sociologia
e antropologia (pp. 183-314). So Paulo: Cosac Naify. (originalmente publicado em 1924-1925)
Morgan, G. (1986). Images of organization. London: Sage.
Neves, T. F. S. (2006). Ensaios sobre o desemprego: qualidades de um novo trabalhador? Imaginrio,
12(13), 123-141.
Ogburn, W. F. & Nimkoff, M. (1953/1980). Cooperao, competio e confito. In F. H. Cardoso & O.
Ianni (Orgs.), Homem e sociedade: leituras bsicas de sociologia geral (12 ed.). So Paulo: Cia. Editora
Nacional.
Oliveira, F. (1997). Relaes de trabalho e sentidos do cooperativismo. Tese de Doutorado. Faculdade de
Psicologia, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, So Paulo.
Oliveira, P. S. (2008). Economia solidria: entrevista com Paul Singer. Estudos Avanados, 22(62), 289-
314.
Paugam, S. (2009). De la compassion la culpabilisation (Entretien avec Serge Paugam). Revue
Sciences Humaines, 202, 36-37.
Prilleltensky, I. (1994). The moral and politics of psychological discourse and the status quo. Nova
Iorque: State University of New York Press.
Rancire, J. (1996). O desentendimento: poltica e flosofa. So Paulo: Editora 34.
Red Aura. (2005). Microcrdito contra la exclusin social: experiencias de fnanciamiento alternativo en
Europa y Amrica Latina. San Jos: Flacso.
Sato, L. (1998). Astcia e ambigidade: as condies simblicas para o replanejamento do trabalho no
cho de fbrica. Tese de doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de So Paulo, So Paulo.
Sato, L. (2002). Preveno de agravos sade do trabalhador: replanejando o trabalho atravs das
negociaes cotidianas. Cadernos de Sade Pblica, 8(5), 1147-1157.
Sato, L. (2006). Struggles to control work: cases from the formal sector. OSH & Development, 8, 281-
288.
Sato, L. (2006). Feira livre: organizao, trabalho e sociabilidade. Tese de Livre Docncia, Instituto de
Psicologia. Universidade de So Paulo, So Paulo.
Sato, L. (2009). Trabalho: sofrer? Construir-se? Resistir? Psicologia em Revista, 15(3), 189-199.
Sato, L. & Esteves, E. (2002). Autogesto: possibilidades e ambigidades de um processo organizativo
peculiar. So Paulo: CUT-ADS.
Singer, P. (2000). Economia solidria: um modo de produo e distribuio. In P. Singer & A. Souza
(Orgs.), A Economia Solidria no Brasil: a autogesto como resposta ao desemprego (pp. 7-10). So
Paulo: Contexto.
Singer, P. (2004). Desenvolvimento capitalista e desenvolvimento solidrio. Estudos Avanados, 18(51),
7-22.
Sato, L.; Andrada, C. F.; vora, I. M. A.; Neves, T. F. S.; Oliveira, F.
Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 63 (no.spe.): 1-104, 2011 14
Spink, P. K. (1991). O resgate da parte. RAUSP-Revista de Administrao, 26(2), 22-31.
Spink, P. K. (1996). A organizao como fenmeno psicossocial: notas para uma redefnio da
psicologia do trabalho. Psicologia & Sociedade, 8(1): 174-192.
Spink, P. K. (2009). Micro cadeias produtivas e a nanoeconomia: repensando o trabalho decente.
Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 12(2), 227-241.
Svartman, B. P., Esteves, E. G., Barbosa, M. A. & Schmidt, V. L. (2008). Refexes sobre as condies
psicossociais do exerccio da autogesto. In A. L. Cortegoso & M. G. Lucas (Orgs.), Psicologia e Economia
Solidria: interfaces e perspectivas (pp. 39-52). So Paulo: Casa do Psiclogo.
Taylor, F. W. (1982). Princpios de administrao cientfca. So Paulo: Atlas. (publicado originalmente em
1911)
Tjosvold, D. (1988). Cooperative and competitive interdependence. Group and Organization Studies, 13,
274-289.
Submetido em: 05/01/2011
Revisto em: 10/05/2011
Aceito em: 07/06/2011
1
Este artigo o desenvolvimento, em coautoria, do texto apresentado como prova oral de erudio no
concurso para Professor Titular de Leny Sato no Instituto de Psicologia da Universidade de So Paulo.
2
Essa palavra tambm origina competncia, que signifca ter capacidade para expressar um juzo de
valor sobre algo a respeito do que versado ou soma de conhecimentos e habilidades (Houaiss &
Villar, 2001).
3
Aos poucos, abandona-se a explicao da pobreza e do desemprego pela injustia social, substituindo-
a pela da responsabilidade individual e pela ideia de que os desempregados preferem manter-se nos
sistemas de ajuda a eles destinados.
4
Um exemplo, citado por Mauss, a legislao previdenciria francesa durante o Estado de Bem-
Estar Social: Toda a nossa legislao de previdncia social, esse socialismo de Estado j realizado,
inspira-se no seguinte princpio: o trabalhador deu sua vida e seu trabalho coletividade, de um lado,
a seus patres, de outro, e, se ele deve colaborar na obra da previdncia, os que se benefciaram de
seus servios no esto quites em relao a ele com o pagamento do salrio, o prprio Estado, que
representa a comunidade, devendo-lhe, com a contribuio dos patres e dele mesmo, uma certa
seguridade em vida, contra o desemprego, a doena, a velhice e a morte (p. 296).
5
Justamente porque as palavras cooperativa e cooperao no tm um nico sentido, o movimento
da Economia Solidria qualifca seus empreendimentos de cooperativas autogestionrias ou de
cooperativas populares (ver: Hespanha et al. (2009), F. Oliveira (2005), P. Oliveira (2008), Singer e
Souza (2000). Apenas assim, torna-se precisa a base igualitria na qual se do as relaes de trabalho
na cooperativa, isto , sendo autogerida, o plano em torno do qual se coopera defnido pelos prprios
executores.
6
Acordo poltico, aliana, liga, unio.
7
Falta de concordncia a respeito de algo, divergncia, discrepncia, desavena, confito, disputa.
8
Ver: Sato (2002).
Você também pode gostar
- Resenha Morgan Cap 5 e 6Documento3 páginasResenha Morgan Cap 5 e 6Franciele Lagni HenriquesAinda não há avaliações
- A Instituição Como Via de Acesso A ComunidadeDocumento8 páginasA Instituição Como Via de Acesso A ComunidadeGabi Menezes0% (1)
- Apostila Do Livro Sociologia GeralDocumento43 páginasApostila Do Livro Sociologia GeralJosé Ney Pinheiro100% (1)
- InterseccionalidadeDocumento12 páginasInterseccionalidadeThayane Almeida FrançaAinda não há avaliações
- Cooperação, Competição e Individualismo em Uma Perspectiva Socio-Cultural ConstructivistaDocumento10 páginasCooperação, Competição e Individualismo em Uma Perspectiva Socio-Cultural ConstructivistaFrancesca Soli100% (4)
- O Processo de Construção de Cooperativas PDFDocumento7 páginasO Processo de Construção de Cooperativas PDFFábio BelluciAinda não há avaliações
- Dissertação - Relacionamentos Interpessoais, Condições de TrabalhoDocumento86 páginasDissertação - Relacionamentos Interpessoais, Condições de TrabalhoAntónio AlvesAinda não há avaliações
- FERIGATODocumento9 páginasFERIGATODenise Duarte LopesAinda não há avaliações
- Trabalho Psi ComunitariaDocumento7 páginasTrabalho Psi ComunitariaamandaAinda não há avaliações
- Alter I DadeDocumento27 páginasAlter I Dadeesemedo.l23Ainda não há avaliações
- 20novas 20pr C1ticas 20em 20psicologia 20comunit C1riaDocumento10 páginas20novas 20pr C1ticas 20em 20psicologia 20comunit C1riaStelio Elidio CanvererAinda não há avaliações
- 6281-Texto Do Artigo-29163-1-10-20151104Documento20 páginas6281-Texto Do Artigo-29163-1-10-20151104HelieneMacedoAinda não há avaliações
- A Importância Dos Grupos Nas Relações SociaisDocumento7 páginasA Importância Dos Grupos Nas Relações Sociais265808Ainda não há avaliações
- Etnografia e Cultura Uma Contribuiçao Da Antropologia A Administração de EmpresasDocumento2 páginasEtnografia e Cultura Uma Contribuiçao Da Antropologia A Administração de EmpresasMarciano JúlioAinda não há avaliações
- Tensão Entre Racionalidades - Ecovila Serva RAC8412Documento24 páginasTensão Entre Racionalidades - Ecovila Serva RAC8412Oklinger Mantovaneli JúniorAinda não há avaliações
- Nálise de Discurso Crítica Letramento E Gênero Social: Uzia Odrigues Da IlvaDocumento14 páginasNálise de Discurso Crítica Letramento E Gênero Social: Uzia Odrigues Da IlvaMarcella FernandesAinda não há avaliações
- 1121 2819 1 PBDocumento5 páginas1121 2819 1 PBGuinever SouzaAinda não há avaliações
- Justiça Curricular: por uma educação escolar comprometida com a justiça socialNo EverandJustiça Curricular: por uma educação escolar comprometida com a justiça socialAinda não há avaliações
- Apostila de SociologiaDocumento6 páginasApostila de SociologiaKarla DaniellaAinda não há avaliações
- Contribuições Da Poética Social À Pesquisa em Psicoterapia de Grupo Carla Guanaes e Marisa JapurDocumento8 páginasContribuições Da Poética Social À Pesquisa em Psicoterapia de Grupo Carla Guanaes e Marisa JapurFabíola ShibataAinda não há avaliações
- GUERRA, Isabel. Polêmicas e Modelos para Uma Sociologia Da IntervençãoDocumento13 páginasGUERRA, Isabel. Polêmicas e Modelos para Uma Sociologia Da IntervençãoClarisseGoulartParadisAinda não há avaliações
- FREIRES, Leogildo Alves (Et Al) - O Estudo Das Relações Intergrupais No Contexto Dos Grupos MinoritáriosDocumento34 páginasFREIRES, Leogildo Alves (Et Al) - O Estudo Das Relações Intergrupais No Contexto Dos Grupos MinoritáriosLucas MascarenhasAinda não há avaliações
- 2015 AndreMartins RCEDocumento22 páginas2015 AndreMartins RCEGiulia VilardeAinda não há avaliações
- (Guerra, 2003) Polémicas e Modelos para Uma Sociologia deDocumento13 páginas(Guerra, 2003) Polémicas e Modelos para Uma Sociologia deRui VitorinoAinda não há avaliações
- A Psicologia Social Do Trabalho Como Campo de Práticas, Saberes e ResistênciasDocumento5 páginasA Psicologia Social Do Trabalho Como Campo de Práticas, Saberes e Resistênciasdaniele silvaAinda não há avaliações
- Cultura Organizacional em Organizações Públicas No Brasil - ResenhaDocumento24 páginasCultura Organizacional em Organizações Públicas No Brasil - ResenhafatimaegiovanaAinda não há avaliações
- Psicologia Social CríticaDocumento10 páginasPsicologia Social CríticaangelacezarioborgesAinda não há avaliações
- A Cooperação Social Como Prática DialógicaDocumento4 páginasA Cooperação Social Como Prática DialógicaMaria RioAinda não há avaliações
- Autoetnografia PerformáticaDocumento13 páginasAutoetnografia Performáticadeaquino.silvia3207Ainda não há avaliações
- Trabalho Final Ética, Ideologia e EducaçãoDocumento8 páginasTrabalho Final Ética, Ideologia e EducaçãoFilloíMendonçaMieraGonzalesAinda não há avaliações
- Psi - Comportamento, Sociedade e Psicologia - Aula 01 - Aspectos Introdutórios Do Comportamento SocialDocumento11 páginasPsi - Comportamento, Sociedade e Psicologia - Aula 01 - Aspectos Introdutórios Do Comportamento SocialcarmenvaleriamaltaAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento4 páginasResenhaAngela Andreolli Schussler100% (1)
- VA 1 Seminário Inter Disciplinar Reny OliveiraDocumento4 páginasVA 1 Seminário Inter Disciplinar Reny OliveiraReny OliveiraAinda não há avaliações
- Ètica e EpistemologiaDocumento10 páginasÈtica e EpistemologiaBruna TávoraAinda não há avaliações
- SOCIOLOGIADocumento7 páginasSOCIOLOGIApimenteladao439Ainda não há avaliações
- My Arquivo Livro - DINAMICAS INTERPESSOAIS VISAO INTERDISCIPLINARDocumento200 páginasMy Arquivo Livro - DINAMICAS INTERPESSOAIS VISAO INTERDISCIPLINARandreniemzyk1Ainda não há avaliações
- Fatos SociaisDocumento2 páginasFatos SociaisGustavo RimesAinda não há avaliações
- Inclusao Com Igualdade Ou Com Equidade Primeiras RDocumento8 páginasInclusao Com Igualdade Ou Com Equidade Primeiras RLudmila ArantesAinda não há avaliações
- Inclusao Com Igualdade Ou Com Equidade Primeiras RDocumento8 páginasInclusao Com Igualdade Ou Com Equidade Primeiras RpsiemanuelidiasAinda não há avaliações
- Durkheim e o Fenômeno Jurídico Na Obra Da Divisão Do Trabalho Social: Ensaio CríticoDocumento15 páginasDurkheim e o Fenômeno Jurídico Na Obra Da Divisão Do Trabalho Social: Ensaio CríticoAmilton Cardoso JuniorAinda não há avaliações
- Sociedade em transformação: Estudo das relações entre trabalho, saúde e subjetividade v.2No EverandSociedade em transformação: Estudo das relações entre trabalho, saúde e subjetividade v.2Ainda não há avaliações
- Pós Hab SociaisDocumento11 páginasPós Hab SociaisTati SparrembergerAinda não há avaliações
- Habilidades SociaisDocumento11 páginasHabilidades SociaisTati SparrembergerAinda não há avaliações
- Habilidades SociaisDocumento79 páginasHabilidades SociaisAnderson VasconcelosAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos Em Intervenção Grupal - Ψψψ.psibrDocumento13 páginasConceitos Básicos Em Intervenção Grupal - Ψψψ.psibrtadeuAinda não há avaliações
- Perspectivas SociológicasDocumento11 páginasPerspectivas SociológicasWallys GutierrezzAinda não há avaliações
- Assédio Moral No Trabalho Uma Responsabilidade Coletiva PDFDocumento3 páginasAssédio Moral No Trabalho Uma Responsabilidade Coletiva PDFAna Paula RibeiroAinda não há avaliações
- Competência Social, Inclusão Escolar e Autismo: Revisão Crítica Da LiteraturaDocumento11 páginasCompetência Social, Inclusão Escolar e Autismo: Revisão Crítica Da LiteraturaMarina CastroAinda não há avaliações
- ARTIGO - Abordagem Clinica No Contexto Comunitario - Perspectiva IntegradoraDocumento8 páginasARTIGO - Abordagem Clinica No Contexto Comunitario - Perspectiva IntegradoraJuliana RodriguesAinda não há avaliações
- Saúde Coletiva 9Documento26 páginasSaúde Coletiva 9carlos tenorioAinda não há avaliações
- Socio DramaDocumento9 páginasSocio DramaRicardo Evandro Souza RibeiroAinda não há avaliações
- Pim 1.2Documento19 páginasPim 1.2Caio Flexa DuarteAinda não há avaliações
- A Sociologia Do Conhecimento em Mannheim e EliasDocumento12 páginasA Sociologia Do Conhecimento em Mannheim e Eliasisantos431196Ainda não há avaliações
- Artigo - Notas Sobre Os Fundamentos Da Teoria Social Crítica e o Serviço SocialDocumento12 páginasArtigo - Notas Sobre Os Fundamentos Da Teoria Social Crítica e o Serviço SocialMilene SabinoAinda não há avaliações
- Paola Cappellin - Política de Igualdade de Oportunidades. Interpelando As Empresas No BrasilDocumento21 páginasPaola Cappellin - Política de Igualdade de Oportunidades. Interpelando As Empresas No BrasilJosé Luiz SoaresAinda não há avaliações
- Dos Processos Identitários Às Representações SociaisDocumento5 páginasDos Processos Identitários Às Representações SociaisDaiane PereiraAinda não há avaliações
- Breves Observações Teoria Das Representações SociaisDocumento12 páginasBreves Observações Teoria Das Representações SociaisAnderson SofientiniAinda não há avaliações
- Resenha Livro POTs Rev RPOT 2021Documento3 páginasResenha Livro POTs Rev RPOT 2021Erico Rentería PérezAinda não há avaliações
- A Interdisciplinaridade e o Serviço SocialDocumento13 páginasA Interdisciplinaridade e o Serviço SocialROSILENEAinda não há avaliações
- Arteterapia Como Metodologia SocialDocumento6 páginasArteterapia Como Metodologia SocialJorge Fantinel100% (1)
- Escola Charter ArtigoDocumento80 páginasEscola Charter ArtigoEric SantosAinda não há avaliações
- O Tigre e o DragãoDocumento14 páginasO Tigre e o DragãoEric SantosAinda não há avaliações
- MimicaDocumento28 páginasMimicaEric SantosAinda não há avaliações
- Drenagem Linfatica ManualDocumento35 páginasDrenagem Linfatica ManualEric SantosAinda não há avaliações
- Objecto e Método Da SociologiaDocumento6 páginasObjecto e Método Da SociologiaEric Santos0% (1)
- Book FotosDocumento4 páginasBook FotosEric SantosAinda não há avaliações
- Primatas SlidesDocumento6 páginasPrimatas SlidesEric SantosAinda não há avaliações
- Desenvolvimento e SocializaçãoDocumento3 páginasDesenvolvimento e SocializaçãoEric SantosAinda não há avaliações