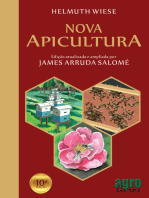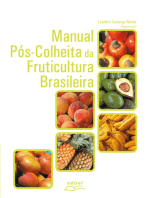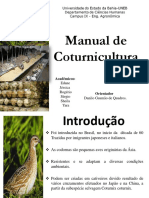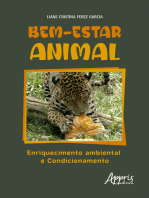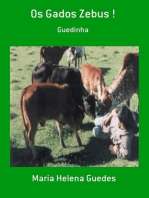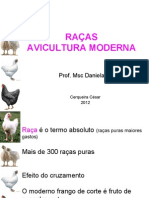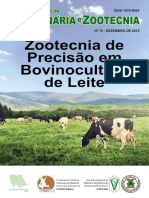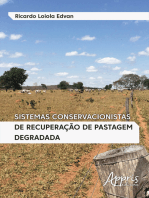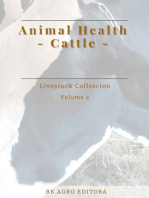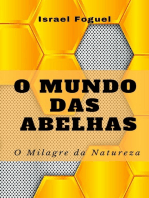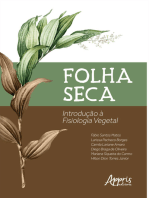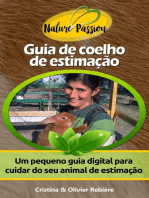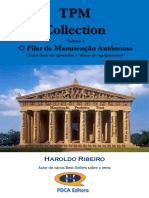Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Criacao de Suinos PDF
Apostila Criacao de Suinos PDF
Enviado por
Samara CibeleTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Criacao de Suinos PDF
Apostila Criacao de Suinos PDF
Enviado por
Samara CibeleDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
CRIAO TCNICA DE
SUNOS
2004
SUMRIO
1. APRESENTAO.........................................................................1
2. INTRODUO AO ESTUDO DOS SUNOS.................................3
3. RAAS...........................................................................................6
4. REPRODUO............................................................................11
5. RECRIA OU CRECHE.................................................................24
6. CRESCIMENTO E TERMINAO..............................................26
7. NUTRIO E ALIMENTAO....................................................29
8. ALIMENTOS ALTERNATIVOS PARA SUNOS..........................35
9. CONSTRUES E EQUIPAMENTOS........................................41
10.MANEJO SANITRIO.................................................................44
11.CONSIDERAES A RESPEITO DOS
DEJETOS DE SUNOS..............................................................47
CRIAO TCNICA DE SUNOS
Rony Antnio Ferreira*
Prof. Elias Tadeu Fialho**
Prof. Jos Augusto de Freitas Lima**
1 . APRESENTAO
Considerando o comportamento cclico do mercado de sunos
terminados, com constantes variaes no preo recebido pelo
produtor, torna-se imprescindvel que os produtores alcance a
lucratividade, pela melhoria da produtividade com a consequente
reduo nos custos de produo. Estas variveis podem ser mais
facilmente obtidas pelo produtor atravs do uso das tecnologias
atualmente disponveis. A suinocultura uma atividade que exige
muita dedicao para se alcanar bons ndices de produtividade e,
consequentemente, obter resultados econmicos satisfatrios.
Esta publicao tem por objetivo divulgar alguns conhecimentos
tcnicos para auxiliar os iniciantes na criao tcnica e econmica de
sunos. Este boletim foi elaborado por professores e pesquisadores
da Universidade Federal de Lavras,
* Prof. Dep. Zootecnia , UFRJ, Campos- RJ.
** Professores do Departamento de Zootecnia/UFLA
objetivando fornecer informaes aos produtores de sunos numa
linguagem simples, de fcil consulta, resguardando, entretanto, o alto
nvel tcnico.
Aconselhamos ao produtor no fundamentar sua criao de
sunos apenas nas informaes contidas nesta publicao, devendo
sempre orientar-se com o tcnico de sua regio e consultar novas
referncias para maiores esclarecimentos.
2. INTRODUO AO ESTUDO DOS SUNOS
Os sunos foram domesticados primeiramente na China, por
volta do ano de 4.900 a.c. So animais pertencentes classe dos
mamferos, sendo a espcie domstica cientificamente denominada
Sus scrofa domesticus.
Na Amrica no existiam sunos antes da chegada do homem,
tendo sido trazidos por Cristvo Colombo em 1493, na sua segunda
viagem. Os primeiros sunos que chegaram ao Brasil vieram com
Martin Afonso de Souza, em 1532, estabelecendo-se em So Vicente,
no litoral paulista. Somente a partir deste sculo, recebemos animais
de
gentica melhorada provenientes da Inglaterra (Berkshire,
Yorkshire, Large-black e Tamworth). Posteriormente, vieram os
reprodutores Poland-China e Duroc, e, somente nas dcadas de 30 e
40, chegaram as espcies Wessex e Hampshire, e na dcada de 50,
o Landrace.
Atualmente, a suinocultura nacional baseada nas raas
Landrace, Large-White e Duroc e em hbridos destas raas.
A evoluo da pecuria no Brasil ( Quadro 1) em 2003, mostra
que o setor que obteve maior crescimento foi o de frangos de corte
(223,4 %). O segundo maior crescimento foi registrado na
suinocultura, que cresceu em mdia 157,14 % de 1990 a 2003. O
rebanho brasileiro de 34,5 milhes de sunos (4 maior rebanho do
mundo) tendo produzido, em 2003, cerca de 2,70 milhes de tonelada
de carne (6 maior produtor de carne do mundo).
Produo Mundial principais Carnes ( Mil Toneladas)
ESPECIE
2000
2001
2002
2004*
Suna
81.386
83.158
86.030
88.303
Frango
50.019
51.695
52.833
54.654
Bovina
50.085
48.958
51.033
50.047
Peru
4.758
4.847
4.924
4.942
Total
186.248
188.658
194.812
197.946
ABIPECS, Relatrio 2003.
*- Estimativa
Evoluo da produo pecuria no Brasil (1990 - 2003).
Item
1990
2003
%
Crescimento
1990 2003
Populao(milhes. hab.)
144,72 177,60
22,72
Frango (milhes. ton.)
2,35
7,60
223,40
Sunos (milhes. ton.)
1,05
2,70
157,14
Leite (bilhes litros)
14,4
52,40
263,89
Ovos (milhes caixas)
37,37
50,60
35,40
Bovinos (milhes. ton.)
4,11
6,78
64,96
Exportao Carne Suna
mil/Ton
Fonte: IBGE, 2003.
34
491
1344,1%
EVOLUO DA SUINOCULTURA NO BRASIL DE 1970 A 2003:
ANO
Rebanho
Produo
Populao
Consumo
(milhes cab.)
(mil. ton.)
(milhes . hab.)
per capita
(Kg/hab)
1970
31,5
705,1
93,1
7,55
1980
34,2
1150
118,6
9,69
1990
30,0
1040
114,7
7,09
1995
34,8
1500
155,8
9,42
2000
32,30
2556
169,50
14,3
2003
34,50
2700
177,60
12,4
Crescimento
9,52 %
282,92%
90,76 %
64,24 %
19702003
Fonte: ABIPECS, 2003.
ESTIMATIVAS E PROJEES DA DISTRIBUIO ATUAL
ENTRE OS SISTEMAS DE PRODUO
SISTEMA
1990
1995
2000
Confinado alta tecnologia
15 %
21 %
32 %
Confinado tradicional
25 %
27 %
29 %
Semi-confinado tradicional
27 %
26 %
21 %
Ar-livre
0,2 %
0,5 %
1%
Extensivo
32,8 %
25,5 %
17 %
total
100 %
100 %
100 %
Fonte: EMBRAPA 1992.
3. RAAS de SUINOS
Por definio, raa o conjunto de animais com caractersticas
semelhantes que tenham a capacidade de transmiti-las aos
descendentes. Dentro de uma mesma raa encontramos animais bons
e ruins e, na prtica,
pode-se observar que a diferena de
produtividade entre estes indivduos pode ser at mais expressiva do
que a diferena entre algumas raas.
Existem certas raas que se sobressaem em produtividade,
produo de carne e precocidade reprodutiva, e existem outras que,
ainda que precoces, tm a conformao e peso menos adequados,
com produo de menores leitegadas. Com o estudo das raas
podemos conhecer seus defeitos e qualidades para produo e
cruzamentos na suinocultura.
Assim sendo, ser realizada uma descrio das raas
estrangeiras que sejam numericamente expressivas no Brasil e as
demais sero brevemente comentadas pelo processo de extino que
sofrem.
3.1 - RAAS ESTRANGEIRAS
notvel a contribuio das raas estrangeiras na suinocultura
nacional, pela seleo de muitos anos feitas em pases de adiantada
tecnologia, resultando em ndices de produtividade expressivos. As
raas estrangeiras mais conhecidas e criadas no Brasil so:
Landrace, Large White ou Yorkshire, Duroc, Pietrain, entre outras.
Estas raas so as mais indicadas para criao de sunos de
sistema
intensivo
(confinamento),
proporcionado pelas mesmas.
pelo
retorno
econmico
3.1 1 - LANDRACE
De origem dinamarquesa, a principal raa estrangeira criada
no Brasil, a primeira no livro de registros da Associao Brasileira dos
Criadores de Sunos (ABCS). So animais totalmente brancos, com
as orelhas cadas (do tipo cltica). As fmeas so excelentes mes,
muito prolferas, produzem leite suficiente para criar leitegadas
numerosas. So animais compridos com bons pernis e rea de olho
de lombo; entretanto, apresentam srios defeitos de aprumos,
problemas de casco e fotossensibilizao.
3.1.2 - LARGE WHITE
Raa de origem inglesa, em segundo lugar nos registros da
ABCS. So animais de cor branca, cabea moderadamente longa,
orelhas grandes e em p (do tipo asitica). Possuem lombo comprido,
porm com menor rea de olho lombar do que a landrace. As
caractersticas produtivas e reprodutivas so semelhantes s da raa
landrace, porm apresentam menos problemas de aprumos e de
cascos, sendo tambm sensvel fotossensibilizao.
3.1.3 - DUROC
10
Raa de origem norte americana, tambm bastante criada no
Brasil devido sua rusticidade, precocidade e excelente adaptao
em nosso meio. So animais de cor vermelho- cereja, com mucosas
marrons. Os machos so indicados para reproduo por transmitir
excelentes descendentes para abate, por isso conhecida como raa
pai. As fmeas produzem pouco leite, apresentam freqentes
problemas no parto, tetas cegas ou invertidas, no sendo
consideradas boas mes.
3.1.4 - PIETRAIN
Raa originria da Blgica, conhecida como raa dos quatro
pernis por possuir grande quantidade de carne nos quartos dianteiros.
Tambm por este motivo, bastante usada em melhoramento
gentico, nos cruzamentos com raas nacionais. As fmeas so boas
produtoras de leite e criadeiras. Apresenta problemas circulatrios,
sendo comum morte sbita por deficincia cardaca, principal causa
da pouca adaptao de animais desta raa nos trpicos. A carne do
Pietrain no considerada de boa qualidade devido a problemas de
perda excessiva de gua (tipo PSE).
3.1.5 - OUTRAS RAAS
11
Existem ainda inmeras raas estrangeiras criadas no Brasil
como: Wessex (inglesa), Hampshire (Estados Unidos), Berkshire
(inglesa), Poland China (Estados Unidos). Podemos citar ainda, as
raas chinesas que atualmente vem sendo muito utilizadas em
melhoramento gentico pela sua alta prolificidade.
3.2 - RAAS NACIONAIS
Nenhuma raa nacional possui associao ou livro de registros;
so animais de baixa produtividade, porm rsticos,, associados
produo de banha e indicados para criaes que no tenham muito
controle zootcnico e baixo controle sanitrio, de forma extensiva, sem
objetivos comerciais. Dentre as raas nacionais, podemos relacionar:
Piau, Caruncho, Canastra, Nilo e outras.
3.2.1 - PIAU
Originada provavelmente na regio do sul de Gois e Tringulo
Mineiro, considerada a melhor e mais importante raa nacional. Foi
estudada e melhorada pelo Dr. Antonio Teixeira Viana, em So Carlos
(SP). Possuem pelagem com manchas pretas e creme misturadas no
corpo. So animais rsticos e de razovel prolificidade, relativamente
12
precoces, podendo ser abatidos entre os 7 e os 9 meses com boa
produo de carne e gordura.
3.2.2 - CARUNCHO
De
origem
desconhecida,
so
animais
com
pelagem
semelhante a do Piau, porm com manchas menores. Animais de
pequeno porte, rolios, rsticos, pouco exigentes em alimentao e
grande produtores de gordura.
3.2.3 - CANASTRA
Apresentam pelagem preta, podendo ser malhados ou ruivos.
Animais rsticos e muito prolficos (8 a 10 leites).
3.2.4 - NILO
Animais de porte mdio, pelados, de cor preta. So rsticos,
apresentam m conformao, pouca ossatura e pouca massa
muscular.
3.2.5 - OUTRAS RAAS
13
Podemos ainda citar raas nacionais espalhadas pelo pas
como: Pereira, Mouro, Tatu, Pirapetinga, Sorocaba, Junqueira, etc.
3.3 - SUNOS HBRIDOS
O suno hbrido se define como o resultado do cruzamento entre
duas ou mais linhagens geneticamente diferentes entre si, com o
objetivo de aproveitar o ganho (vigor hbrido) dos descendentes deste
acasalamento. O programa de hibridao necessita de uma ampla
base de animais puros com elevados custos de manuteno, sendo
geralmente realizado por grandes empresas como a Agroceres PIC.
Por estas razes, esses tipos de programas so somente justificveis
em grandes criaes industriais ou cooperativas e nunca a nvel de
pequenas ou mdias criaes.
4. REPRODUO
4.1 - AQUISIO DE REPRODUTORES
A reproduo um dos principais pontos de ateno do
suinocultor, onde no bastam bons padres nutricionais e boas
normas de manejo se os ndices reprodutivos no forem tambm
14
elevados. A seleo de reprodutores de excelente qualidade
representa um passo decisivo para o sucesso da criao, e o seu nvel
s poder ser melhorado com a aquisio de reprodutores de
qualidades superiores mdia do rebanho.
As raas produtoras de carne so as que atendem s
necessidades do mercado consumidor e tambm tm melhor preo,
devendo ser, deste modo, consideradas na escolha dos reprodutores
para a suinocultura.
To importante quanto as raas so os reprodutores que sero
utilizados na produo de animais para abate. As fmeas devero ser
cruzadas, filhas de macho Large White ou Duroc com fmeas
Landrace ou macho Landrace com fmeas Large White. Para
acasalar com as fmeas cruzadas devemos dar preferncia ao macho
da raa que no entrou na produo das fmeas, originando o animal
treecross (trs raas) que tem maior vigor hbrido.
Por ocasio da compra de reprodutores, o produtor deve
conhecer as informaes a respeito da vida reprodutiva, desempenho
de carcaa dos pais das fmeas cruzadas, bem como dados dos
animais que esto sendo adquiridos, para garantir bons resultados de
produo de sunos terminados. Ou poder ainda, optar pela seleo
de fmeas produzidas na prpria propriedade com a devida
15
assistncia tcnica no sentido de orient-lo na realizao dos
cruzamentos.
Segundo Oliveira e outros (EMBRAPA - CNPSA - Documento
n 31), na aquisio de reprodutores devemos tomar alguns cuidados
como:
FMEAS - Na compra de matrizes necessrio observar as
seguintes caractersticas:
pesar no mnimo 90 kg aos 150 dias de idade;
nascer de uma leitegada numerosa;
possuir pelo menos 7 pares de tetas funcionais;
no ter irmos com defeito de nascena;
ter vulva de tamanho proporcional idade;
ter bons aprumos e no apresentar desvio de coluna;
ter bom comprimento e profundidade.
MACHOS - o animal mais importante do rebanho por acasalar
com vrias fmeas e transmitir suas caractersticas aos seus
descendentes. Devemos:
adquirir machos selecionados com peso mnimo de 110 kg aos 150
dias e no mximo 18 cm de espessura de toucinho ao final do teste
de granja;
preferir uma raa que no entrou no cruzamento das fmeas;
16
apresentar bons aprumos e no ter desvios de coluna;
apresentar os testculos salientes e proporcionais idade;
possuir comportamento sexual ativo;
apresentar pernil desenvolvido e boa largura de lombo.
4.2 - MANEJO DURANTE A PUBERDADE
Puberdade a poca em que os animais esto sexualmente
desenvolvidos, fisiologicamente aptos para a reproduo, ou seja,
perodo em que a fmea produz seus primeiros vulos e os machos
seus primeiros espermatozides. Porm, no esto ainda preparados
fisicamente para a procriao. As marrs atingem a puberdade por
volta dos 4 a 6 meses de idade; nos machos ligeiramente mais
retardada.
4.3 - FATORES QUE AFETAM A PUBERDADE
1. Consanginidade : o alto grau de parentesco, provoca atraso do
aparecimento da puberdade.
2. Raas : observada entre raas uma variao da puberdade,
sendo que raas pequenas atingem a puberdade mais cedo. e
animais cruzados tm a puberdade antecipada.
17
3. Idade, peso vivo e taxa de crescimento : esto intimamente ligados,
sendo a idade uma melhor indicao da maturidade sexual.
4. Nutrio : os planos nutricionais devem ser realizados de forma a
atender as exigncias dos animais em energia, protenas, minerais
e vitaminas. As restries alimentares e o excesso de energia das
raes podem retardar o aparecimento da puberdade.
5. Ambiente social : marrs criadas em baias coletivas tm sua
puberdade antecipada; do mesmo modo, a presena dos varres
entre as marrs antecipa a puberdade atravs de estmulos
sexuais. A combinao destes sistemas leva a melhores
resultados, podendo adiantar o processo em at 15 dias.
6. Clima : marrs que nascem no outono atingem a puberdade mais
cedo do que aquelas que nascem na primavera, provavelmente
devido ao fotoperodo.
7. Stress moderado : mudana de baias ou o transporte de marrs
pode induzir ao aparecimento de cio. Consiste em boa prtica de
manejo no se aproveitar o primeiro cio de marrs que foram
adquiridas e transportadas recentemente para a granja, devendo
antes passarem por uma adaptao ambiental.
4.4 - MANEJO REPRODUTIVO
18
Os reprodutores no devem ser utilizados na reproduo ao
alcanarem a puberdade, devido ao desenvolvimento anatmico
insuficiente. No caso dos
sunos, os reprodutores devem ser
induzidos usados na reproduo somente a partir dos 7 meses e/ou
110 kg de peso vivo ou,
ainda, a partir do 2 cio das fmeas.
Antecipar a reproduo pode retardar o processo de crescimento e
comprometer a vida til dos animais.
Leitoas e porcas desmamadas devem ser colocadas em baias
prximas aos machos para estimular o aparecimento de cio. O
controle do cio deve ser realizado duas vezes ao dia, com o auxlio do
macho.
A fmea dever ser levada at o macho, observando-se que a
regio vulvar esteja limpa, o que evitar problemas com infeces
reprodutivas. Estas coberturas devero ser realizadas nas horas mais
frescas do dia e sempre acompanhada e controlada pelo tratador.
A ovulao ocorrer de 24 a 36 horas aps o aparecimento das
primeiras manifestaes do cio. Um mtodo bem eficiente para se
realizar coberturas no momento ideal consiste em deteco da
apresentao do reflexo de imobilizao pela presso dorso lombar
da fmea. Devero ser realizadas duas
coberturas (com dois
cachaos), a primeira 12 horas aps a manifestao do reflexo de
monta e a segunda, 12 horas aps a primeira. Na prtica, se o cio for
19
detectado pela manh, a cobertura ou inseminao deve ser realizada
tarde do mesmo dia; se for detectado tarde, a cobertura ou
inseminao deve ser realizada na manh do dia seguinte.
PERODO DE GESTAO - A gestao dura, em mdia, 114 dias
dividida em duas fases: embrionria e fetal. A fase embrionria varia
de 17 a 24 dias aps a fecundao, sendo de grande importncia,
pois neste perodo que ocorrem as perdas embrionrias. Neste
perodo, portanto, a fmea deve sofrer o mnimo de estresse possvel e
deve-se ter bastante cuidado com as raes que no devem conter
excesso de energia para no aumentar estas perdas embrionrias.
O diagnstico de gestao poder ser verificado, observando a
no repetio de cio 21 dias aps a cobertura.
A alimentao das porcas gestantes deve ser limitada de
acordo com as suas condies orgnicas, fornecendo mesma entre
1,5 a 2 kg de rao/dia at o parto. Esta quantidade poder ser
ligeiramente aumentada nos teros finais de gestao, de acordo com
orientao do zootecnista responsvel.
As marrs devem ganhar mais peso na gestao em relao
s porcas, pois esto em fase de crescimento.
Os machos tambm devem passar por um plano de nutrio
moderado, semelhante ao das porcas para que no engordem.
20
As porcas devem ser vermifugadas e tratadas contra piolhos e
sarnas, segundo a recomendao do produto utilizado e, cerca de 5
dias antes do parto, devem ser lavadas usando gua e sabo neutro e
transferidas para a maternidade devidamente higienizada para
receb-las.
5. PARIO E LACTAO
Parto a expulso dos fetos do tero aps o seu completo
desenvolvimento. Poder durar de 4 a 6 horas. A proximidade do
parto poder ser verificada pela secreo de leite das tetas por uma
leve presso. Esta secreo de leite ocorre cerca de 6 horas antes do
parto.
A maternidade dever ser provida de fontes de calor
(campnulas), que devero ser testadas por ocasio do parto e
escamoteadores (casinhas para abrigar leites).
O parto deve ser sempre acompanhado pelo tratador, podendose reduzir a mortalidade de leites em at 10 %. Logo aps o
nascimento dos leites deve-se proceder toalete, que consiste em:
21
limpar e enxugar os leites com papel toalha, desobstruindo as
narinas e a boca; amarrar o cordo umbilical cerca d e 2 cm abaixo da
barriga com barbante mantido em lcool iodado e cortar o cordo logo
abaixo do amarrio; mergulhar o cordo em um vidro de boca larga
com lcool iodado para desinfetar totalmente a rea do umbigo;
auxiliar, se necessrio, o leito a mamar o colostro (animais muito
fracos, com menos de 800g e debilitados devero ser descartados);
cortar os dentes evitando machucar a gengiva; cortar o tero final da
cauda; colocar os leites no escamoteador. Aps o trmino do parto,
devemos recolher os restos de placenta e coloc-los numa fossa antisptica.
A maternidade mais funcional a do tipo gaiola que restringe
os movimentos da porca, evitando o esmagamento dos leites.
5.1 - RECOMENDAES TCNICAS:
- No dia do parto a porca dever receber apenas gua de boa
qualidade e fresca;
- O escamoteador deve conter cama seca e fonte de calor com
temperatura controlada entre 28 e 30C;
- Porcas com 8 leites ou mais devem receber 2,0 kg de rao no
segundo dia ps parto e ir aumentando gradativamente at receberem
22
rao vontade. Porcas com menos de 8 leites devem receber 2,5
kg mais 400 gramas de rao por leito;
- No 3 e 12 dia de vida, os leites devem receber injees de ferro
para evitar anemia (anemia ferropriva);
- Fornecer rao pr-inicial para leites, a partir do dcimo quarto dia;
- Castrar os machos entre 10 a 15 dias de idade;
- O desmame que poder ser feito entre 28 a 35 dias, com os leites
pesando ao redor de 8 a 10 kg, dever ser realizado em grupos, para
sincronizar o aparecimento de cio ps-desmama;
- Recomenda-se fazer a desmama nas quintas-feiras para que as
cobries no ocorram nos finais de semana;
- Aps a desmama, a porca dever ser levada para baias prximas do
macho e ser cobertas logo no aparecimento do primeiro cio, o qual
dever ocorrer por volta de 3 ou 5 dias;
5.2 - DIARRIA DOS LEITES
A diarria dos leites pode ter sua origem em vrios fatores
como vrus, bactrias, parasitas ou ainda distrbios nutricionais.
caracterizada pelas fezes fluidas (moles), tornando os leites fracos,
refugos, mais sensveis a outras doenas e pode ser responsvel por
metade das mortes na fase inicial da vida dos leites.
23
Dentre os possveis fatores responsveis pela diarria,
podemos enumerar alguns:
Relacionados porca: falta de amamentao ou falta de leite.
Relacionados ao leito: falta ou demora na ingesto de colostro,
estresse na castrao, injees, manejo em geral.
Relacionados alimentao: qualidade da rao, falta de minerais,
vitaminas, alimentos mofados, estragados ou contaminados, gua
contaminada ou falta de gua.
Relacionados ao ambiente: baias sujas, excesso de umidade, frio,
ventilaes inadequadas.
Relacionadas ao manejo: troca brusca de raes, excesso de
animais na baia, falta de interesse do funcionrio responsvel pela
maternidade, etc.
Podemos identificar a diarria pela observao, por exemplo:
diarria causada por Costridiun perfringens Tipo C - Diarria com
sangue e morte de toda a leitegada. Tipo A - Diarria com sangue
e poucas mortes.
diarria causada por Escherichia coli - diarria aquosa, raramente
em todo o grupo, algumas mortes.
5.3 - DIARRIA DOS LEITES EM AMAMENTAO
24
Os
agentes
causadores
de
diarria
nos
leites
em
amamentao pode agir de forma mais rpida ou lenta, podendo ser
identificados conforme a idade em que aparecem. No primeiro dia de
vida dos leites (6 a 24 horas), pode ocorrer a diarria apenas
aquosa, de cor amarelo-plida, e que raramente afeta mais de 70 %
da leitegada (causada por E. C. Perfringes ou ainda por
Campylobaster ou estreptococcus).
Em leites de 24 a 48 horas de idade ocorre a diarria
vermelho-clara, afetando toda a leitegada quando causada por
Clostridiun perfringens Tipo C. Quando causada pelo Tipo A, os
sintomas so semelhantes e a mortalidade baixa.
As diarrias ocorridas acima de 48 horas de idade dos leites
pode ser uma diarria aquosa (diarria epidmica ou gastroenterite
transmissvel).
As ocorrncias de diarrias nos leites a partir de 72 horas de
idade
podem
provocar
uma
diarria
aquosa
vezes
amarronzadas, sendo mais comum a ocorrncia aos 10 dias de idade
e durar de 3 a 5 dias.
As ltimas diarrias surgem acima de 96 horas (do quarto para
o quinto dia de idade do leito) provocando uma diarria pastosa ou
amarelada e aquosa, agravando-se com a sujeira.
25
5.4 - DIARRIAS PS DESMAME
Aps o desmame, por diversos fatores causadores de estresse
como a mudana de ambiente, a separao da me, a troca de rao,
etc que causam um choque aos leites, estes ficam predispostos
ocorrncia da Sndrome de Diarria Ps Desmame (SDPD).
Como medidas preventivas, devemos tentar diminuir ao
mximo o estresse durante o perodo crtico de duas a trs semanas
aps o desmame. Como exemplo, podemos realizar um melhor
manejo da alimentao durante 10 a 12 dias aps o desmame em que
a rao diria deve ser restrita e fracionada em intervalos regulares.
No perodo de 8 a 14 dias aps o desmame, podemos
observar a ocorrncia de sangue e muco nas fezes, sendo eliminados
por dois a trs dias, aps o que elas se tornam verdes ou enegrecidas
e de consistncia mole; os leites afetados no apresentam febre,
mas emagrecem, desidratam-se, perdem peso e ficam deitados nos
cantos das baias.
O controle de diarrias em sunos deve ser realizado baseandose no manejo, uso de drogas e uso de vacinas.
No manejo devemos observar limpeza e desinfeco rigorosa; uso
do sistema all in all out; fornecimento de gua limpa e de boa
qualidade, etc.
26
Com o uso de drogas. Devemos observar qual a causa da diarria
optar por um dos produtos como antibiticos, probiticos, vitaminas,
minerais, entre outros.
O uso de vacinas tem sido muito estudado na preveno de
diarrias, porm ainda no temos, at o momento, informaes
suficientes para recomendao prtica do mtodo.
6. RECRIA OU CRECHE
A fase de recria inicia-se aps o desmame e vai at os 70
dias de idade, com o leito pesando em torno de 25 Kg A temperatura
ideal na creche deve ser de 25C
A troca de rao da fase de maternidade para a fase de creche
deve ser gradativa para e vitar problemas com diarria.
No dia seguinte desmama, deve-se fornecer 50 gramas de
rao por leito, duas vezes ao dia e aumentar gradativamente at
atingir o consumo vontade. Deve ser adotado um programa de
restrio alimentar, como sugere a EMBRAPA (1991) no quadro na
prxima pgina. Durante a fase de creche, o animal consumir, em
mdia, 750 gramas de rao/dia.
2
No dimensionamento da creche deve ser considerado 0,30 m
por animal. No aconselhvel alojar mais que 10 leites por baia.
27
Dever ser feito tratamento contra vermes dos leites por volta
de 6 a 8 semanas de vida. Tratamentos contra sarnas e piolhos
devero ser feitos, se necessrio. No final da fase de creche
uniformizar o lote e transferir para as instalaes de crescimento.
As trocas de raes em cada fase devem ser gradativas,
adaptando os sunos s novas raes, evitando, assim, problemas
com diarrias.
PROGRAMA DE RESTRIO ALIMENTAR
Perodo em dias
aps desmame
1-4
5-8
9 - 12
Peso mdio do
leito (kg)
no desmame
6-7
Rao fornecida (kg) por
dia em funo do n
de animais / baia
6
8
10
12
0.82
1.1
1.4
1.6
7-9
1.1
1.4
1.8
2.1
9 - 11
1.4
1.8
2.3
2.8
11 - 12
1.6
2.1
2.6
3.1
6-7
1.1
1.5
1.9
2.3
7-9
1.6
2.1
2.6
3.1
9 - 11
2.1
2.8
3.5
4.2
11 - 12
2.4
3.2
3.9
4.7
6-7
1.7
2.2
2.8
3.4
7-9
2.2
3.0
3.7
4.5
9 - 11
3.1
4.1
5.1
6.2
28
11 - 12
3.4
4.5
5.6
6.7
Fonte: EMBRAPA - 1991.
7 - CRESCIMENTO E TERMINAO
A fase de crescimento se inicia aps a fase de creche (aos 70
dias), com o animal pesando por volta de 25 Kg e vai at os 60 kg
(aos 120 dias). A fase de terminao subsequente fase de
crescimento e vai at o abate, quando o peso pode variar de acordo
com o mercado e o custo de produo.
Os animais devem ser agrupados em lotes, variando de 10 a
20 sunos com tamanho uniforme. Devemos evitar a superlotao,
pisos molhados e ventilao inadequada que contribuem para o
surgimento ou agravamento de problemas como pneumonias, rinite
atrfica, diarria e canibalismo. As baias devem ser mantidas sempre
limpas, com temperatura ambiente em torno de 18 a 20C para a fase
de crescimento e em torno de 15 a 20C na fase de terminao.
Durante estas duas fases, os animais devem receber rao
vontade. Devemos ter nmero adequado de bebedouros (1:10
animais) e comedouros (1 boca : 3 ou 4 animais)e mant-los sempre
limpos.
29
Em todas as fases da criao, principalmente nas fases de
crescimento e terminao, devemos ter muito cuidado, evitando que
os animais consumam rao velha e mofada nos cantos dos
comedouros para se evitar problemas com micotoxinas.
IMPORTANTEEm todas as fases da criao de sunos recomendase adotar o sistema all in all out, ou seja, todos dentro e todos fora.
Os animais devem iniciar e terminar uma fase todos juntos, de modo
que, ao trmino de cada fase, o prdio seja isolado para a realizao
do vazio sanitrio, prtica de fundamental importncia em suinocultura.
30
NDICES ZOOTCNICOS DA SUINOCULTURA TECNIFICADA:
ndice
BOM
MDIO
RUIM
Leit. nasc. vivos
10 A 12
9 A 10
menos de 9
% Natimortos
2a4%
4a5%
mais de 5 %
% Mumificados
menos de 1 %
de 1 a 1,5 %
mais de 1,5 %
Leit. nasc. total
11,5 a 12,5
10,5 a 11,5
menos de 10,5
Peso Nascer
1,4 a 2 kg
1,3 a 1,4 kg
menos de 1,3 Kg
Leit. Desmamados
10 a 11
9 a 10
menos de 9
% Mortes matern.
menos de 5 %
de 5 a 10 %
mais de 10 %
Peso desmame-21d.
mais de 6 Kg
de 5,7 a 6 Kg
menos de 5,7 Kg
GPD maternidade *
mais de 300 g
270 a 300 g
menos de 270g
Peso sada creche
mais de 25 kg
22 a 25 Kg
menos de 22 Kg
GPD na creche *
mais de 400 g
370 a 390 g
menos de 360 g
% Morte na creche
menos de 0,5 %
0,5 a 1 %
mais de 1 %
Peso abate (150 d.)
mais de 100 Kg
90 a 100 Kg
menos de 90 Kg
GPD nasc. abate *
mais de 640 g
600 a 630 g
menos de 600 g
CA do rebanho *
menor que 2,7
2,7 a 3,0
maior que 3,0
% Retorno cio
menor que 10 %
10 a 12 %
maior que 12 %
Taxa fertilidade
maior que 90 %
83 a 89 %
menor que 82 %
65 dias
Fonte: Roppa (1996).
* GPD maternidade Ganho de Peso Dirio na Maternidade
31
* GPD na creche
Ganho de Peso Dirio na Creche
* GPD nasc. ao abate Ganho de Peso Dirio do Nascimento ao
Abate
* CA do rebanho
Converso Ali mentar do Rebanho:
CA = Rao Consumida (kg)
Ganho de peso (kg)
8 - NUTRIO E ALIMENTAO
Estudos demonstram que a alimentao contribui com cerca de
70 a 80% do custo de produo dos sunos. Sendo assim,
procuramos, com este tpico, fornecer o conhecimento bsico em
nutrio de sunos de forma a esclarecer possveis questionamentos
relacionados ao assunto.
Recomenda-se evitar uma srie de erros tcnicos tais como:
alimentao dos sunos com raes mal formuladas, pouca ateno
para alimentao de leites novos, manejo incorreto nas fases de
gestao e lactao, administrao de rao balanceada em animais
de categoria inferior, entre outros.
Existem no mercado diversos tipos de raes para sunos,
sendo: raes comerciais de uso imediato, concentrados que
misturados ao milho tornam-se raes balanceadas e alimentos para
32
se fabricar a rao na prpria granja. Sugerimos aos usurios de
raes comerciais e concentrados que sigam rigorosamente as
instrues do fabricante contidas nos rtulos das sacarias.
Na composio de uma rao balanceada a ser misturada na
prpria granja, devem estar alimentos energticos, proticos, fontes
de minerais e vitaminas. Dentre os alimentos energticos podemos
usar: fub de milho, sorgo, farelo de trigo, farelo de arroz, etc. Como
alimentos proticos podemos usar: farelo de soja, farelo de
amendoim, farinha de peixes, farinha de carne, etc. Recomendamos
queles que desejam fabricar a rao na sua prpria granja que
procure orientao de um zootecnista especializado.
8.l - MANEJO DA ALIMENTAO EM DIFERENTES FASES DO
CICLO DE PRODUO:
Gestao e nutrio pr-natal Fornecer para a fmea gestante
rao com 12% de protena bruta (PB) e 3300 kcal de energia
digestvel (ED) sendo 1,8 kg at 72 dias de gestao e 2,5 kg at
113 dias. Dois ou trs dias antes do parto, fornecer uma
alimentao com altos teores de fibra, como farelo de trigo ou
capim picado.
33
Reprodutores Os reprodutores machos devem receber 2,0 kg de
uma rao da gestao, podendo ser ligeiramente aumentada ou
diminuda de acordo com a conformao fsica do animal, que deve
no deve ser gordo.
Pario No dia provvel do parto, fornecer apenas gua limpa e
fresca vontade. Iniciar o fornecimento com 2 Kg de rao no 2
dia do parto e aumentar gradativamente at que no 7 dia, porcas
com at 8 leites devem receber 2,5 kg para a porca e 0,4 kg a
mais para cada leito; porcas com maior nmero de leites
fornecer rao vontade. A rao deve conter 13% de PB e 3340
kcal de ED.
Creche Deve ser feito um melhor manejo da alimentao durante
10 a 12 dias aps o desmame, quando a rao diria deve ser
restrita e fracionada em intervalos regulares.
Crescimento O fornecimento de rao deve ser vontade e a
rao deve conter 3400 kcal de ED e o nvel de protena varia de
acordo com o peso dos animais, sendo: animais de 5 a 10 kg de
peso - 20 % de PB; 10 a 20 de peso - 18 % de PB, e animais de 20
a 50 kg de peso - 15 % de PB.
Terminao Nesta fase que vai dos 60 kg at o abate, os sunos
devem receber rao vontade com 13% de PB e 3400 kcal de
ED.
34
Fmeas para reposio As fmeas destinadas reposio
devem ser separadas do lote aos 120 dias de idade e continuar
recebendo rao de crescimento com 15% de PB e 3300 a 3400
kcal de ED. A rao deve ser fornecida vontade.
8.2 - PRINCIPAIS SINTOMAS DE DEFICINCIAS POR
VITAMINAS EM SUNOS:
SINTOMAS
VITAMINAS
Anemia
Vit. B6 - B 12 - c. Flico
Dermatite
Vit. B6 - Niacina
Diarria
Vit. B6 - Niacina
c. Flico
Distrofia
Vit. E
muscular
Edema
Vit. A
Falha de
Vit. A
espermatozides
Hemorragias
Vit. K
Passo de Ganso
cido Pantotnico
Raquitismo
Vit. D
Rachadura no casco
Biotina
lceras no clon
cido Pantotnico
Fonte: Autores diversos.
35
8.3 - DEFICINCIAS MINERAIS
As deficincias minerais em sunos ocorrem, principalmente,
pelos seguintes fatores:
os sunos so animais de crescimento muito rpido, necessitando
portanto, de quantidades muito grandes de minerais;
so animais que se reproduzem precocimente (6 - 7 meses), ainda
em fase de crescimento;
produzem grandes leitegadas e a fmea elimina grande quantidade
de minerais durante o parto;
so criados confinados, no tendo acesso plantas e ao solo.
sua alimentao a base de gros que, geralmente, so
deficientes em minerais;
so animais suscetveis a diarrias, as quais diminuem a absoro
de minerais havendo grande perdas.
em relao ao seu peso e tamanho, produzem muito leite que um
alimento rico em minerais.
36
8.4
- PRINCIPAIS
SINTOMAS DE DEFICINCIAS POR
MINERAIS EM SUNOS
Perda de apetite
Sal-Potssio-Zinco-Fsforo-Ferro
Apetite depravado
Sal - Fsforo
Diminuio do crescimento
Sal-Potssio-Ferro-Fsforo-Zinco
Fragilidade dos ossos
Calcio
Raquitismo (jovens)
Clcio
Osteomalcia (adultos)
Anemia
Cobre - Ferro
Diarria
Zinco
Paraqueratose
Zinco
Anormalidades, debilidades no Clcio - Cobre - Zinco
esqueleto
Mangans - Fsforo
Falhas na reproduo
Fsforo - Selnio - Ferro
Leites nascem sem
Iodo
plos ou mumificados
Dificuldade de
Magnsio
ficar em p
Natimortos
Fonte: Diversos autores.
Mangans
37
9 - ALIMENTOS ALTERNATIVOS PARA SUNOS
As raes para sunos esto baseadas no uso, principalmente,
dos ingredientes milho e farelo de soja. Cerca de 70 a 80% da rao
composta pelo milho, sendo que uma oscilao no preo deste
ingrediente propiciar uma variao do preo final da rao,
influenciando diretamente no custo de produo do suno terminado.
Da a importncia do estudo de alimentos alternativos para substituir o
milho e tambm o farelo de soja que a principal fonte protica da
dieta. No sentido de contribuir para a maximizao da produtividade
da suinocultura, instituies de pesquisa como a Universidade Federal
de Lavras vm estudando a viabilidade do uso de alimentos
alternativos para sunos, proporcionando ao setor suincola suporte
tcnico para a melhor escolha dos alimentos alternativos.
9.1 - RECOMENDAES TCNICAS DA UTILIZAO DOS
DIVERSOS INGREDIENTES NA ALIMENTAO DE SUNOS NAS
DIFERENTES FASES DO CICLO DE PRODUO
Apresentamos, na tabela a seguir, um resumo dos alimentos
alternativos e seus respectivos nveis tcnicos recomendados na
formulao de raes para sunos nas diferentes fases de produo:
38
ALIMENTO
gestao
lactao
creche
crescime/
terminao
Alfafa
0 - 25
0 - 15
0 - 30
0 - 36
0 - 30
0 - 36
vontade
Cevada
0 - 50
0 - 80
Espiga de
0 - 60
0 - 15
0- 3
0-3
0- 3
0-3
0- 3
0-3
0- 3
0-6
0 - 30
0 - 30
gestao
lactao
creche
crescime/
(feno)
Aveia
branca
Aveia
desaristada
Caldo de
cana
milho moda
Farinha
de sangue
Far. de penas e
vsceras hidroliz.
Farelo de
trigo
ALIMENTO
39
terminao
Farelo de algodo
0- 6
0-6
0- 3
0-8
Farelo de
2 - 12
2 - 12
3- 5
4 - 10
0 - 30
0 - 30
0 - 30
0 - 20
0 - 30
Farelo de soja
0 - 25
0 - 20
0 - 30
0 - 20
Farinha de
0- 5
0-5
0 - 10
0-5
0- 3
0-3
0- 3
0-3
0- 5
0-5
0- 5
0-6
Fava
0 - 24
0 - 24
Feijo comum
0 - 15
Gorduras e
0- 5
0-5
0- 5
0-5
amendoim
Farelo de arroz
integral
Farelo de arroz
desengordurado
peixe
Farinha de
pena hidrolizada
Farrinha de
carne e ossos
leos vegetais
40
ALIMENTO
gestao
lactao
creche
crescim./
terminao
Mandioca
vontade
0 - 70
0 - 70
0 - 70
0 - 95
0 - 82
0 - 70
0 - 85
10 - 15
0 - 20
0 - 25
Sorgo modo
0 - 80
0 - 82
0 - 70
0 - 85
Soro
0 - 20
vontade
Trigo morisco
0 - 30
0 - 40
Triguilho
0 - 30
0 - 30
0 - 30
Triticale
0 - 90
0 - 30
0 - 30
0 - 89
in natura
Mandioca
raspa
Milho
modo
Soja integral cozida
e torrada
leite em p
Soro
leite lquido
Fonte: FIALHO & BARBOSA (1993).
41
9.2 - CONSIDERAES TCNICAS SOBRE ALGUNS ALIMENTOS ALTERNATIVOS
SORGO Alimento energtico que poder substituir o milho em at
100% nas raes de sunos em crescimento e terminao, pois seu
valor energtico situa -se de 90 a 95% do valor energtico do milho.
Devemos evitar o uso de sorgo de alto tanino por causar
problemas nutricionais. importante salientar que medida em que
substitumos o sorgo pelo milho na rao, temos um acrscimo no
consumo pelos animais.
FARELO DE ARROZ INTEGRAL o resduo do arroz aps
descascado e polido; no deve ser depositado por longo perodo
devido a problemas de rancidez devido ao seu alto teor de gordura.
Poder ser utilizado em nveis de at 30% em substituio ao milho,
pois quando utilizado em grandes propores produz toucinho mole.
FARELO DE TRIGO o subproduto da moagem do trigo. Propicia
bons resultados quando utilizado em at 40% nas raes de porcas
gestantes e at 30% para sunos em crescimento e terminao.
Caracteriza -se por ter ao laxativa em funo do seu alto teor de
fibras (12%). Deve ser usado quando seu preo for, no mximo, 70%
do preo do milho. importante para fmeas em gestao, antes da
pario.
42
MANDIOCA A raspa de mandioca seca ao sol pode substituir o
milho em at 50% na rao, quando o preo for inferior ao do milho.
CALDO DE CANA O caldo de cana pode ser fornecido vontade
para sunos a partir dos 20 Kg de peso vivo at o abate. Entretanto,
devemos ter o cuidado de elevar o teor de protena da rao para
compensar o menor consumo dos nutrientes.
SORO DE LEITE Serve apenas para suprir uma frao da energia
exigida diariamente pelos animais. A adaptao deve ser gradual a
fim de evitar ocorrncias de diarrias. Dever ser fornecido a sunos
somente quando originado de leite pasteurizado.
SOJA GRO TOSTADA possvel obtermos os mesmos
resultados de desempenho de sunos alimentados com soja gro em
substituio ao farelo de soja na rao, porm, o seu alto teor de leo
poder produzir toucinho mole. A soja no tostada no poder ser
utilizada na alimentao de sunos pela existncia de fatores
antinutricionais (sojina) que reduzem o desempenho dos animais.
10 - CONSTRUES E EQUIPAMENTOS
43
Tradicionalmente no Brasil, o sistema adotado o semiconfinado, onde os reprodutores tm acesso a piquetes gramados
para exerccios. Entretanto, medida em que a criao evolui, h uma
tendncia de partir para o sistema totalmente confinado, exigente de
melhores tecnologias que o anterior. A diferena bsica que no
sistema confinado total os reprodutores no tm acesso aos piquetes.
Colocaremos algumas consideraes a respeito da construo de
uma suinocultura em sistema de confinamento total e recomendamos
aos interessados que consultem tcnicos especializados antes de
iniciar a construo para que indiquem as melhores opes de
construo e orientao em cada caso especfico.
10.1 - MATERNIDADE
So instalaes indispensveis e se destinam ao parto. Devem
ser higinicas, de fcil manejo e conter, basicamente, uma proteo
contra o esmagamento dos leites pela porca, uma fonte de calor para
os recm nascidos e um abrigo para os leites (escamoteador ou
creep). Existem vrios tipos de maternidade como a convencional e
maternidades com gaiolas de pario. A maternidade com gaiolas de
pario o tipo mais recomendado para evitar o esmagamento de
leites pelas porcas. Estas gaiolas podem ser construdas de ferro,
44
lato, madeira ou alvenaria. Devemos considerar uma cela de pario
com, aproximadamente, 2,30 por 1,50m, sendo 60m de largura, 2,30m
de comprimento e 40 a 60m de espaos laterais para os leites. A
altura da parede divisria deve ser de 40 a 60m. Deve ter uma
inclinao no sentido de facilitar o escoamento de lquidos na limpeza.
A gaiola deve conter, ainda, bebedouros e comedouros apropriados
para porca e leites.
10.2 - CRECHE
O sistema mais funcional de creche a gaiola de piso telado,
suspensa a 0,60m do piso e dimensionada para receber uma
leitegada de, no mximo, 10 leites, sendo considerada uma rea de
2
0,30m por animal, correspondendo a um baia de 2,00 por 1,50m.
10.3 - CRESCIMENTO E TERMINAO
Nestas fases, recomenda-se que os animais permaneam na
2
mesma baia, considerando uma rea por animal de 0,7m na fase de
2
crescimento e 1,0m na fase de terminao. As paredes divisrias
45
devem ter de 0,8 a 1m de altura e o piso uma inclinao de 2 a 3%
para facilitar o escoamento.
10.4 - GESTAO
Aps a cobertura, as porcas iro para as baias coletivas ou
individuais. As baias coletivas devem ser conduzidas em pequenos
grupos (de 7 a 10 animais). Na opo de manejo das fmeas
individualmente, devemos ter gaiolas equipadas com bebedouro e
comedouro individuais. Teremos uma reduo significativa da rea
construda para o mesmo nmero de animais e menor gasto com mo
de obra, pela menor rea. As gaiolas de gestao devem ter 2,10m
de comprimento por 0,60m de largura. As porcas permanecem nestas
gaiolas de 4 a 7 dias antes do parto, quando so levadas para a
maternidade.
10.5 - RESERVATRIO DE GUA
A gua deve ser de boa qualidade, fresca e vontade, com
temperatura entre 16 e 18C para sunos de todas as idades. A
quantidade de gua utilizada numa criao de sunos depende do
46
sistema de criao, tipo de bebedouros utilizados e da existncia ou
no de fossas para a reteno de dejetos. Tanto o encanamento
quanto o reservatrio devem ser protegidos do sol para manter a gua
numa temperatura adequada.
Segundo a EMBRAPA (Documentos n19 - 1993), o
reservatrio deve ser dimensionado para estocar gua por um perodo
de 5 dias pela seguinte equao:
CR = (0,48 STA + F + M) x 0,075
Onde:
CR = capacidade do reservatrio
STA = sunos terminados por ano
F
= n de fmeas no rebanho
= n de machos no rebanho
Por exemplo: sistema de produo de 24 matrizes com um
macho e estimando-se 504 sunos terminados por ano.
CR = (0,48 x STA + F + M) x 0,075
47
CR = (0,48 x 504 + 24 + 1) x 0,075
3
CR = 20,02 m
11 - MANEJO SANITRIO
Consideramos de grande importncia a realizao do manejo
com o objetivo de prevenir as doenas dos sunos, conseguindo
maiores lucros e melhores ndices zootcnicos com o tratamento
preventivo em relao ao curativo.
Esquema de vacinao para rebanhos sunos segundo a EMBRAPA
(Documentos n 19 - 1993). Podem ocorrer variaes entre os
fabricantes; neste caso, seguir a bula ou as recomendaes do
fabricante, assimcomo a legislao sanitria especfica de cada
estado.
48
Doena
Leitoas de
Matrizes
Cachaos
Reposio
Leites
Dose e via
jovens
de
aplicao
Peste
28 dias
70 a 90 dias
Suna
antes da
de gestao
Clssica *
cobrio
Anual
60 dias de
2 ml
idade; 7 ou
intramuscu-
14 dias se a
lar
me no foi
vacinada
Rinite
60 e 90 dias
90 dias de
Atrfica
de gestao
gestao
Leptospi- 42 e 21 dias entre 28 e 14
rose
Doena
Semestral
7 e 28 dias
2 ml sub-
de idade
cutnea
Semestral
2 ml intra -
antes da
dias antes da
muscular ou
cobrio
cobrio
sub-cutnea
Leitoas
Matrizes
Cachaos
de Reposio
Leites
Dose e
jovens
via de
aplicao
Parvovi-
42 e 21
Entre 28 e
rose
dias antes
14 dias
Semestral
2 ml intra
muscular
49
da
antes da
ou sub-
cobrio
cobrio
cutnea
Pneumo-
2 vezes
42 e 14 dias Semestral
nia
antes da
antes do
Micopls
cobrio
parto
-mica
com 14
7 e 21 dias
2 ml intra
de idade
muscular
desmame
2 ml intra
dias de
intervalo
Erisipela
Pleuro-
42 e 21
Entre 28 e
dias
14 dias
e 21 dias
muscular
antes do
antes do
depois
ou sub-
parto
parto
42 e 21
Entre 28 e
pneumon dias antes
ia
Doena
do parto
Leitoas
Semestral
cutnea
Semestral
2 ml intra
14 dias
muscular
antes do
ou sub-
parto
cutnea
Matrizes
Cachaos
de
Leites
Dose e via
jovens
de
Reposi-
aplicao
o
Doena
42 e 21
Entre 42 e
de
dias
21 dias
Aujesky
antes da
antes do
Anual
65 dias de
2 ml intra
idade
muscular
ou sub-
50
cobertura
parto
cutnea
Fonte: EMBRAPA (1993).
* Em alguns estados brasileiros, a vacinao contra Peste Suna
Clssica est proibida. Deve-se, neste caso seguir a legislao
vigente no estados e ou regio.
12 - CONSIDERAES A RESPEITO DOS DEJETOS DE SUNOS
Com o avano tecnolgico e a implantao do uso cada vez
maior de sistemas confinados, o homem no s reduziu a
oportunidade dos sunos realizarem a coprofagia (comerem suas
prprias fezes), como tambm provocou a concentrao de sunos em
pequenas reas, causando um grande volume de dejetos produzidos
por unidade de rea. A suinocultura considerada, pelos rgo de
controle ambiental, como atividade potencialmente causadora de
degradao ambiental, sendo enquadrada como de grande potencial
poluidor.
Do ponto de vista agronmico, a incorporao de resduos
orgnicos fundamental para melhorar suas qualidades fsicas,
qumicas e biolgicas, alm de proporcionar uma economia de
insumos. Segundo Perdomo, cada tonelada de dejetos no
aproveitados representa um desperdcio de cerca de 10 kg de
nitrognio, fsforo e potssio.
51
Porm, temos ainda no Brasil uma escassez de estudos
relacionados ao manejo de dejetos, sendo que cada propriedade
especfica dever adotar o sistema que melhor se adapte sua
realidade produtiva.
12.1 - CARACTERSTICAS DOS DEJETOS
A produo de dejetos por sunos varia de acordo com o seu
peso e desenvolvimento e a produo de dejetos lquidos depende
tambm do manejo, tipo de bebedouro, sistema de limpeza adotado e
nmero de animais, como pode ser verificado na tabela abaixo:
Fases de
Produo
25 - 100 Kg
Porcas
Porca Lactao
Macho
Leites Creche
Dejetos lquidos
(litros/dia)
7,0
16,0
27,0
9,0
1,4
Produo
(m3/animal/ms)
0,25
0,48
0,81
0,28
0,05
Fonte: Perdomo 1996
O desperdcio de gua aumentam o volume dos dejetos,,
agravando o problema e aumentando os custos de armazenamento,
tratamento, distribuio e transporte dos dejetos. Segundo Perdomo,
uma pequena goteira num bebedouro poder significar uma perda de
3
26,5 litros/hora (0,636 m /dia).
52
As redues nas quantidades de dejetos lquidos podem ser
conseguidas, primeiro, reduzindo as perdas de gua, segundo, por
uma reduo no consumo de gua com a adoo de construes que
possibilitem um conforto trmico adequado aos animais.
Normalmente, os sunos bebem maior quantidade de gua do
que necessitam. Em situaes livres de estresse, o consumo pode
chegar a 5 ou 6 % do peso corporal.
Dietas ricas em protena exigem maior consumo de gua por
gerarem menor produo de gua metablica que outros nutrientes.
Durante o perodo de engorda (25 - 100 kg), um suno consome cerca
de 5 a 6 kg de nitrognio e perde 2/3 desta quantidade. Este estudo
se torna importante para que faamos formulaes de dietas com
melhores ndices de aproveitamento pelos animais (digestibilidade),
reduzindo as perdas nos dejetos. Estudos realizados pelo Centro
Nacional de Pesquisas de Sunos e Aves, em Santa Catarina estimam
que a utilizao de enzimas pode reduzir a produo de 15 a 20 Kg de
fezes do nascimento desmama por animal, resultando em uma
reduo de 10 a 15% dos dejetos produzidos.
12.2 - APROVEITAMENTO DOS DEJETOS
53
Como fertilizantes: a utilizao de grandes quantidades de
dejetos por um longo perodo poder ocasionar uma sobrecarga na
capacidade de filtrao do solo e reteno de nutrientes do esterco,
podendo atingir e contaminar guas subterrneas ou superficiais.
Em alguns estudos realizados, aps a aplicao de uma
mesma quantidade de fsforo proveniente de dejetos ou superfosfato,
observou-se que os teores de fsforo no solo estavam mais elevados
nos tratamentos com dejetos.
Alm dos macronutrientes, devido ao suplemento mineral
fornecido ao sunos, seus dejetos contm ainda micronutrientes como
zinco, magnsio, cobre e ferro, que em doses elevadas podem ser
txicos para as plantas.
Segundo Perdomo, isso mostra o grande potencial que os
dejetos de sunos tm na melhoria das propriedades qumicas do solo,
com conseqente aumento da produtividade das culturas, desde que
adequadamente utilizados visando a preservao do meio ambiente.
Como nutrientes: os resultados da utilizao de dejetos de
sunos para os prprios sunos no so muito encorajadores pela sua
composio, que de baixo valor nutricional para os mesmos.
Todavia, Oliveira, estudando nveis de incluso de dejetos de sunos
para sunos em crescimento, conclui que este poder ser utilizado em
baixos nveis nas raes sem provocar grandes perdas no
54
desempenho dos animais. Temos que considerar, portanto, que
haver sempre o risco de contaminaes e disseminao de doenas
entre os animais, mesmo utilizando os dejetos da prpria granja.
Porm, a utilizao desses dejetos parece ser mais promissora
quando empregada para ruminantes (bovinos).
Produo de biogs: os dejetos sunos possuem um bom
potencial para a produo de biogs (mais de 70% dos slidos totais
so volteis). Apresentamos na tabela abaixo a produo de biogs
de acordo com o tamanho do rebanho:
N de
matrizes
Volume
digestor
(m3 )
Volume biogs
(m3 /dia)
Biofertilizante
(Kg/dia)
12
25
12
1000
24
50
25
2000
36
75
37
3000
60
125
62
5000
Fonte: Perdomo 1996.
12.3 - MANEJO E TRATAMENTO DOS DEJETOS
SEPARAO DAS FASES Consiste na separao das partculas
maiores (parte slida) da frao lquida, obtendo dois produtos:
55
- uma frao lquida, mais fluida, conservando as mesmas
concentraes em alimentos e fertilizantes solveis que os dejetos
brutos;
- e uma frao slida, resduo da peneira com umidade em torno de
70 %, mantendo-se agregada, podendo evoluir para um composto.
DECANTAO Consiste no armazenamento do volume de dejetos
lquidos em um reservatrio, por um perodo de tempo para a
separao da fase slida e lquida do liquame por decantao da fase
slida em suspenso.
PENEIRAMENTO Semelhante ao anterior, tem como objetivo
separar as fases lquida e slida, para tratamento posterior
diferenciado. A capacidade de remoo dos slidos por peneiras
menos eficiente do que a remoo obtida por decantadores.
ARMAZENAMENTO DOS DEJETOS uma das fases mais
importantes do processo, podendo, basicamente, ser realizada em
dois modelos de depsitos:
Esterqueiras:
esterqueiras
sem
revestimento
podero
ser
escavadas diretamente no solo, tomando-se os devidos cuidados
56
com os lenis superficiais de gua. Porm, em solos arenosos,
com alta capacidade de infiltrao, proceder o revestimento com
materiais impermeveis.
Lagoas de estabilizao: podem ser lagoas facultativas, aerbias
(aerao
natural)
ou
aerada
(aeradas
mecanicamente).
profundidade das lagoas depende muito das condies ambientais
e do tipo de dejeto a ser tratado; em profundidades inferiores a 1
metro ocorre emergncia de vegetao, criando problemas de
odores e de manejo. Profundidades acima de 1,5 metros so
usadas para climas frios.
Bioesterqueira: adaptada pelo servio de extenso rural de Santa
Catarina (ACARESC), realiza o processamento de forma aerbia.
Consiste na construo da cmara de alimentao e descarga
contnua, que permite a reteno dos dejetos por um perodo de 40
dias.
13 - REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABIPECS Relatrio Anual 2003. 36 p.
____________Sistemas de Produo para Sunos - Boletim n 1
57
Out/1978. Editado por: CNPSA (Embrapa), EMBRATER
ACARESC. Santa Catarina.
BERTOLIN, A. - Sunos - Editora Ltero Tcnica - Curitiba 1992 .
CAVALCANTI, S. S. - Produo de Sunos - ICEA - Campinas 1984.
DESOUZART, O - O Mercado da Carne de Sunos e Aves no
Mercosul - Simpsio Latino Americano de Nutrio de
Sunos e
Aves - CBNA, Campinas, 1996.
FIALHO, E. T.; BARBOSA, H. P.; FERREIRA, A. S.; GOMES, P. C.;
GIROTTO, A. F. - Utilizao
de
Cevada
em
Raes
Suplementadas com leo de Soja para Sunos em
Crescimento e Terminao. Braslias, DF - PAB 27 (10) 1992.
FIALHO, E. T.; BARBOSA H. P. - Utilizao de sorgo em Raes
para Sunos e Aves. Sete Lagoas, MG, EMBRAPA / CNPMS
Circular Tcnica n 23 . 1992.
FIALHO, E. T. - Alimentos Alternativos e Clculo de Raes de Custo
Mnimo para Sunos. In: Manual do VII Curso de Formulao de
Raes de Custo Mnimo. ESALQ / USP.P - 1-67, 1993.
FIALHO, E. T.; LIMA, J. A. F.; BERTECHINI, A. G; FERREIRA, R. A.;
MODESTO, E. C. - Avaliao do Desempenho de Sunos
Alimentados com Milho QPM nas Fases de Crescimento e
Terminao - Anais da XXXIII Reunio Anual da SBZ - Fortaleza,
CE. 1996.
58
GAITN, G J. A. - Noes Bsicas sobre Nutrio e Alimentao de
Sunos - Miscelnia n 2 - EMBRAPA - CNPSA 1980.
GODINHO, J. F. - Suinocultura. Tecnologia Moderada, Formao e
Manejo de
Pastagens - 2 edio Nobel. 1995.
GOMES, M. F. M. e outros - Anlise Prospectiva do Complexo
Agroindustrial de Sunos no Brasil -EMBRAPA - Documentos n
26 - 1992.
LIMA, G J. M. M. - O Papel do Nutricionista no Controle da Poluio
Ambiental por Dejetos de Sunos. Simpsio Latino Americano
de Nutrio de Sunos e Aves - CBNA Campinas -1996.
LIMA, J. A. F.; SOARES, M. C.; OLIVEIRA, A. I. G e FIALHO, E. T. Apostila de Suinocultura da UFLA - Lavras 1995.
OLIVEIRA, M. C.; DONZELE, J. L.; FERREIRA, A. S. e FREITAS,
R. T. F. - Nveis de Incluso de Dejetos de Sunos na Dieta
de
Leites em Crescimento - Anais da XXXIII Reunio da SBZ
Fortaleza CE, Julho de 1996
OLIVEIRA, P. A. V. e colaboradores - Manual de Manejo e Utilizao
dos Dejetos de
Sunos -
EMBRAPA -
CNPSA
Srie
Documentos n 27 1993.
OLIVEIRA, P. A. V. e outros - Suinocultura Noes Bsicas - Srie
Documentos
n 31 - CNPSA - Embrapa 1993.
PERDOMO, C. C.; Uso Racional de Dejetos dos Sunos - Seminrio
59
Internacional de Suinocultura (Anais) So Paulo, 1996.
PROGRAMA GUABI PARA PRODUO DE SUNOS - Editado pela
Guabi.
ROPPA, L.
- A Suinocultura em Nmeros - I
Seminrio
Internacional de Suinocultura (Anais) - So Paulo. 1996.
SOARES, M. C. e LIMA, J. A. F . - Informes para o Suinocultor Lavras 1980
Você também pode gostar
- Espécies nativas para piscicultura no Brasil: 3ª edição revista, atualizada e ampliadaNo EverandEspécies nativas para piscicultura no Brasil: 3ª edição revista, atualizada e ampliadaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Cunicultura: didática e prática na criação de coelhosNo EverandCunicultura: didática e prática na criação de coelhosAinda não há avaliações
- Manual pós-colheita da fruticultura brasileiraNo EverandManual pós-colheita da fruticultura brasileiraAinda não há avaliações
- APR - Montagem ExaustoresDocumento5 páginasAPR - Montagem ExaustoresLeal Safety100% (2)
- Avic - Apostila - Avicultura de PosturaDocumento33 páginasAvic - Apostila - Avicultura de PosturaFuligemz100% (1)
- SuinoculturaDocumento27 páginasSuinoculturaVet_arquivos100% (3)
- Livro Nutrição de RuminantesDocumento120 páginasLivro Nutrição de RuminantesAmanda Lima100% (2)
- Instalações para Caprinos e OvinosDocumento2 páginasInstalações para Caprinos e OvinosLeticia Piccoli100% (4)
- Projeto de SuinoculturaDocumento11 páginasProjeto de SuinoculturaJames DewarAinda não há avaliações
- APOSTILA Bovino de CorteDocumento34 páginasAPOSTILA Bovino de CorteJosé Cutrim Junior100% (2)
- Sistema de Produção de SuínosDocumento26 páginasSistema de Produção de SuínosMarcela Silveira71% (7)
- COTURNICULTURA ZootDocumento39 páginasCOTURNICULTURA Zootanon_922951249Ainda não há avaliações
- Bovinocultura de Corte: Cadeia Produtiva & Sistemas de ProduçãoNo EverandBovinocultura de Corte: Cadeia Produtiva & Sistemas de ProduçãoAinda não há avaliações
- Bem-Estar Animal - Enriquecimento Ambiental e CondicionamentoNo EverandBem-Estar Animal - Enriquecimento Ambiental e CondicionamentoAinda não há avaliações
- XC760K - Operação e ManutençãoDocumento101 páginasXC760K - Operação e ManutençãoHenrique100% (1)
- Banner CientificoDocumento1 páginaBanner CientificoFabiana TeixeiraAinda não há avaliações
- Paralelo ECO 1a EDDocumento23 páginasParalelo ECO 1a EDParaleloAinda não há avaliações
- Apostila de Suinocultura 260311Documento35 páginasApostila de Suinocultura 260311elbianco11100% (2)
- Avi CulturaDocumento47 páginasAvi CulturaJose Herickson Miguel Lima da SilvaAinda não há avaliações
- Avic - Apostila - Notas de Aula - UFLADocumento97 páginasAvic - Apostila - Notas de Aula - UFLAFuligemzAinda não há avaliações
- Apostila de OvinosDocumento110 páginasApostila de Ovinosatemistoclesmeloluce100% (1)
- Cria, Recria E EngordaNo EverandCria, Recria E EngordaAinda não há avaliações
- Dejetos SuinosDocumento30 páginasDejetos Suinosbidonejack100% (2)
- OvosDocumento26 páginasOvosGebson Pinheiro100% (1)
- Suinocultura - Manejo Sanitario Dos Suinos - Trabalho IfmaDocumento44 páginasSuinocultura - Manejo Sanitario Dos Suinos - Trabalho IfmaDavid Oliveira100% (2)
- Boas Praticas Na Prod, de SuinosDocumento60 páginasBoas Praticas Na Prod, de SuinosMarcelo NévoaAinda não há avaliações
- Como Fazer Criação de CodornasDocumento33 páginasComo Fazer Criação de CodornasPaulo Roberto Silva LimaAinda não há avaliações
- Aula Modulo 03 Frango CorteDocumento14 páginasAula Modulo 03 Frango CorteValdir Morais Cardoso JuniorAinda não há avaliações
- Aula 2 - Avicultura e SuinoculturaDocumento39 páginasAula 2 - Avicultura e SuinoculturaDiego SantosAinda não há avaliações
- RAÇAS Aves - Aula3Documento31 páginasRAÇAS Aves - Aula3Daniela Maria Gerônimo50% (2)
- Apostila ZootecniaDocumento25 páginasApostila ZootecniaIsmael Neu100% (2)
- Aula 6 - Seminario Instalacoes e Equipamentos SuinosDocumento120 páginasAula 6 - Seminario Instalacoes e Equipamentos SuinosGavetas Insanas100% (3)
- Apresentação RaçasDocumento106 páginasApresentação RaçasJoão Maria100% (1)
- Nutricao Animal Apostila CompletaDocumento109 páginasNutricao Animal Apostila CompletaEduardo Ataide de OliveiraAinda não há avaliações
- Pragas Da PastagemDocumento61 páginasPragas Da PastagemEdno Negrini JrAinda não há avaliações
- Zootecnia de PrecisãoDocumento110 páginasZootecnia de PrecisãoNadia MirandaAinda não há avaliações
- SuinosDocumento19 páginasSuinosAndressa OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila - Nutrição AnimalDocumento42 páginasApostila - Nutrição AnimalDenysson AmorimAinda não há avaliações
- As Raças de SuínosDocumento26 páginasAs Raças de SuínosJéssyka Emmanuelly Silva dos SantosAinda não há avaliações
- Ficha Prática SuínosDocumento5 páginasFicha Prática Suínoscarlos afonso sanoAinda não há avaliações
- AbelhassssssDocumento122 páginasAbelhassssssLenildo Araujo100% (1)
- Alimentos Na Nutrição de BovinosDocumento14 páginasAlimentos Na Nutrição de BovinosGeorgia GalaesAinda não há avaliações
- Métodos de Pastejo e Características Morfologicas de PlantasDocumento44 páginasMétodos de Pastejo e Características Morfologicas de PlantasAlvaro Raiol100% (1)
- Apostila Zootecnia GeralDocumento104 páginasApostila Zootecnia GeralHildeanne Rodrigues67% (9)
- Apostila Forragicultura.Documento85 páginasApostila Forragicultura.Denysson Amorim100% (2)
- Criacao de Patos em Clima TropicalDocumento96 páginasCriacao de Patos em Clima TropicalVinicius Cruz100% (1)
- Zootecnia de Precisão em Bovinocultura de Leite - Caderno Tecnico 79Documento145 páginasZootecnia de Precisão em Bovinocultura de Leite - Caderno Tecnico 79joaoevandroAinda não há avaliações
- Sistemas Conservacionistas de Recuperação de Pastagem DegradadaNo EverandSistemas Conservacionistas de Recuperação de Pastagem DegradadaAinda não há avaliações
- Compêndio de Adubação e Nutrição de Hortaliças pelo Método Japonês Baseado na Extração pela Cultura e Análise do SoloNo EverandCompêndio de Adubação e Nutrição de Hortaliças pelo Método Japonês Baseado na Extração pela Cultura e Análise do SoloAinda não há avaliações
- Como produzir e melhorar sementes de milhoNo EverandComo produzir e melhorar sementes de milhoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Guia de coelho de estimação: Um pequeno guia digital para cuidar do seu animal de estimaçãoNo EverandGuia de coelho de estimação: Um pequeno guia digital para cuidar do seu animal de estimaçãoAinda não há avaliações
- Adubação Nitrogenada da Cultura do Trigo: com Base na Clorofilometria Via Aeronave Remotamente PilotadaNo EverandAdubação Nitrogenada da Cultura do Trigo: com Base na Clorofilometria Via Aeronave Remotamente PilotadaAinda não há avaliações
- Raças SuínasDocumento21 páginasRaças SuínasSabrina MascenoAinda não há avaliações
- SUINOCULTURA - Racas e MelhoramentoDocumento56 páginasSUINOCULTURA - Racas e MelhoramentoGaby LimaAinda não há avaliações
- AvicultutraDocumento38 páginasAvicultutraGil BatistaAinda não há avaliações
- POP 005 Higienizacao HospitalarDocumento48 páginasPOP 005 Higienizacao Hospitalaramanda barbosaAinda não há avaliações
- 4 - Classificação de Atividades PDFDocumento21 páginas4 - Classificação de Atividades PDFFabio AssisAinda não há avaliações
- Controle e Tratamento de Efluentes Domésticos e IndustriaisDocumento14 páginasControle e Tratamento de Efluentes Domésticos e IndustriaisMaria Andressa Ferro de LimaAinda não há avaliações
- A Moderna Construção SustentávelDocumento6 páginasA Moderna Construção SustentávelGuilhermeabsmAinda não há avaliações
- Uso de Pellets de Madeira para Fins Energéticos - Pesquisa de MercadoDocumento74 páginasUso de Pellets de Madeira para Fins Energéticos - Pesquisa de MercadorodrigoaraujogAinda não há avaliações
- Anexo B Caracterização Do EmpreendimentoDocumento1 páginaAnexo B Caracterização Do EmpreendimentoArquivos DMAAinda não há avaliações
- Pcmso - San Pietro - 2021-2022Documento13 páginasPcmso - San Pietro - 2021-2022MAIANE ARYELEAinda não há avaliações
- Apostila SaneamentoDocumento75 páginasApostila SaneamentoVanessa Guerra100% (1)
- Filtros BiologicosDocumento16 páginasFiltros BiologicosCarolina RamosAinda não há avaliações
- Tri-Act 1800Documento13 páginasTri-Act 1800Leandro SouzaAinda não há avaliações
- Volume 4 - O Pilar de Manutenção AutônomaDocumento102 páginasVolume 4 - O Pilar de Manutenção AutônomaGabriel Marques Silva50% (2)
- As Políticas Públicas de Coleta Seletiva No Município Do Rio deDocumento24 páginasAs Políticas Públicas de Coleta Seletiva No Município Do Rio deJuliana Pimentel MacariniAinda não há avaliações
- Matriz Morfológica - Rodrigo ElhailDocumento23 páginasMatriz Morfológica - Rodrigo ElhailRodrigo ElhailAinda não há avaliações
- 14.1 J) Plano de Gestao de RCDDocumento10 páginas14.1 J) Plano de Gestao de RCDNuno OliveiraAinda não há avaliações
- Legislação - Parques de CampismoDocumento11 páginasLegislação - Parques de CampismocralvesAinda não há avaliações
- Atividade 3Documento2 páginasAtividade 3David StewartAinda não há avaliações
- Plano de Negócios Reciclagem ComputadoresDocumento72 páginasPlano de Negócios Reciclagem ComputadoresAmadeu Paiva100% (3)
- SIKA GROUT TIX - msds-010-09Documento8 páginasSIKA GROUT TIX - msds-010-09Mariene Almeida TorresAinda não há avaliações
- FISPQ - Abrasivos NortonDocumento8 páginasFISPQ - Abrasivos NortonWesley PetizeroAinda não há avaliações
- UntitledDocumento148 páginasUntitledAlexsandro TorezinAinda não há avaliações
- Xbox 360 Informações ImportantesDocumento8 páginasXbox 360 Informações ImportantesHenrique 433444Ainda não há avaliações
- Manutencao Anual Subestacoes e QDBTs-rev.00Documento23 páginasManutencao Anual Subestacoes e QDBTs-rev.00roberto100% (1)
- MBP ExercitoDocumento89 páginasMBP ExercitoPetrônio Laciprete TonyAinda não há avaliações
- 06 - Serviços Correspondentes As Funções de Conservação - Final - PDFDocumento73 páginas06 - Serviços Correspondentes As Funções de Conservação - Final - PDFAnderson PaesAinda não há avaliações
- Produção de Terebentina e AbeuDocumento66 páginasProdução de Terebentina e AbeuFrancisco FranciscanoAinda não há avaliações
- Responsabilidade SocioambientalDocumento225 páginasResponsabilidade SocioambientalgabrielsykescnAinda não há avaliações