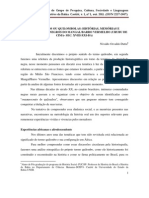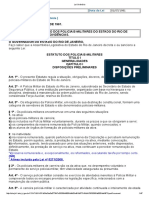Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Raízes Do Brasil - Resenha
Enviado por
JoyceIrisTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Raízes Do Brasil - Resenha
Enviado por
JoyceIrisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria
terra
Breno Mendes
Graduando em Histria - UFMG
RESUMO: Neste artigo o autor abordar algumas das principais categorias propostas por
Srgio Buarque de Holanda em Razes do Brasil, tais como, a cordialidade e a nossa
revoluo. Uma incurso na influncia historicista da obra em anlise desembocar na
importncia do lugar social de onde Srgio Buarque redigiu Razes do Brasil e na sua
proposta de superao do passado. Por fim, ser ensaiada uma articulao entre conceitos
propostos por R. Koselleck e F. Nietzsche na escrita de Holanda.
PALAVRAS-CHAVE: historiografia brasileira, Srgio Buarque de Holanda, cordialidade.
ABSTRACT: In this article the author will broach some of the main categories proposed by
Srgio Buarque de Holanda in Razes do Brasil, such as the warmth and our revolution. A
incursion in historicist influences in the analyzed title will lead to the importance of the social
place from where Srgio Buarque wrote Razes do Brasil and your proposal of surpass the
past. Eventually will be composed an articulation between concepts proposed by R.
Koselleck and F. Nietzsche in the Holandas writing.
KEY-WORDS: brazilian historiography, Srgio Buarque de Holanda, warmth.
Introduo
O objetivo principal deste artigo realizar uma discusso acerca da categoria
cordialidade proposta por Srgio Buarque de Holanda em Razes do Brasil. Para tanto,
ser feita uma substanciosa incurso na influncia germnica historicista no pensamento de
Holanda. Sero tangenciados tambm outros pontos como o lugar social do historiador, a
proposta e anseio da nossa revoluo, o carter ensastico da obra, a questo das razes
ibricas e tambm a dos tipos ideais.
1
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
Comecemos com uma breve biografia do autor. Srgio Buarque de Holanda nasceu
em So Paulo no ano de 1902. Seu pai foi professor de botnica na Escola de Farmcia e
Odontologia deste mesmo estado. Sua formao acadmica foi realizada na rea do Direito,
embora jamais tenha exercido a profisso (REIS, 2007: 115). Alm de sua profunda
erudio em Cincias Sociais, relevante destacar tambm sua produo como crtico
literrio contribuindo para diversos peridicos e participando ainda que de modo indireto da
Semana de Arte Moderna, quando publicou textos nas revistas Klaxon e Esttica, sendo um
dos membros fundadores desta ltima. Cerca de 60 anos depois seria um dos membros
fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT (DIAS, 1986: 7). Em suas publicaes
nestes peridicos era recorrente a crtica ao bacharelismo, ao intelectualismo clssico,
obstinao pela forma que impediria o afloramento de uma cultura legitimamente nacional,
cultura esta que deveria no mais partir de uma matriz europia adaptando-se ao contexto
brasileiro, mas sim, tomar como base o nacional, e a partir deste realizar possveis
assimilaes de outras culturas (A. FILHO, 1987: 34).
Se Gilberto Freyre teceu um reelogio da colonizao tal qual um descobridor do
Brasil, Srgio Buarque assim como outros autores clssicos da historiografia brasileira,
pretendeu lanar um olhar crtico sobre empresa colonial portuguesa, tal qual um
redescobridor do Brasil, privilgio pretendido no apenas por historiadores, mas tambm por
toda a gerao modernista (REIS, 2007: 125).
Srgio Buarque classificava Razes do Brasil como um livro complicado, e no
escondia sua predileo por outra obra Viso do Paraso, a qual recomendava aos seus
familiares leitura, em detrimento do complicado ensaio em questo. Entretanto, era com
Razes do Brasil e no com Viso do Paraso que o autor presenteava a cada um de seus
netos (DUTRA, 2005: 9).
A primeira caracterstica que gostaramos de destacar na anlise de Razes do Brasil
seu carter ensastico. Na obra, a narrativa no se d de forma cronolgica ou linear,
entre um pargrafo e outro os sculos avanam e retrocedem, passa-se da colnia
repblica sem escalas no imprio. Sua principal inteno no discutir cronologias, datas,
perodos histricos, mas a pertinncia de uma idia central, a saber, a permanncia da
herana ibrica. Seguindo a definio de um ensaio, Srgio Buarque realiza uma prosa livre
que versa sobre um tema especfico, sem esgot-lo, mas com profundidade. Paulo Arantes
explanou bem sobre os ensaios histrico-sociolgicos publicados na dcada de 1930 dentre
os quais Razes do Brasil pode ser includo, ensaios onde:
2
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
[...] se esquadrinha, snteses so tentadas, so procuradas explicaes de nossa
cultura, sempre no terreno sincrtico e predileto do ponto de vista no
especializado, um gnero misto, construdo na confluncia da criao literria e da
pesquisa cientfica, forma original de investigao e descoberta no Brasil
(ARANTES, 1992: 21).
Segundo Fernando Henrique Cardoso, Razes do Brasil uma espcie de pintura em
miniatura que encanta mais por suas mincias do que por sua extenso, ou quantidade de
pginas (CARDOSO, 1993: 26).
Em 1935 Srgio Buarque de Holanda publica na revista Espelho um artigo
considerado como a pr-estria de Razes, intitulado Corpo e Alma do Brasil. Ensaios de
psicologia social. Nele j estavam prefigurados os principais traos da obra, como a crtica
s heranas ibricas, e tambm a categoria do homem cordial1. Sua anlise primou pelo
estudo de aspectos da psicologia e histria social do Brasil. Destaca-se a transio para um
ttulo que alude de modo mais incisivo a historicidade do argumento, apontando para uma
origem, para as razes: Razes do Brasil.
A primeira edio de Razes do Brasil foi publicada em 1936 pela Editora Jos
Olympio. Razes foi o primeiro volume da coleo Documentos Brasileiros poca
coordenada por Gilberto Freyre, que inclusive escreveu um prefcio no qual mais esclarece
o objetivo da coleo do que apresenta o livro. Apenas um pargrafo ressaltando os
atributos intelectuais dedicado a Srgio Buarque de Holanda (ROCHA, 2008: 248).
Segundo Freyre, com esta coleo buscava-se ampliar o pblico da literatura de contedo
mais poltico e social, indo ao encontro do anseio do brasileiro culto pelas coisas do passado
de seu pas (MONTEIRO, 1999: 38). O pblico que j se mostrara receptivo literatura
regionalista de cunho social poderia se interessar por esforos de sntese histrica que
estabelecesse ligaes entre o passado colonial e o presente, que experimentava um
impulso modernizador acelerado pela Revoluo de 1930 (ROCHA, 2008: 251).
A obra no marcada por um nmero elevado de notas de referncias, embora elas
existam e remetam a uma considervel, mas, no exaustiva pesquisa documental. Diversas
referncias foram sendo acrescentadas s edies posteriores a 1. Na edio de 1936 o
tom bem mais incisivo e categrico. De acordo com Evaldo Cabral de Mello entre 1936 e
1945 Srgio abandona o projeto de interpretao sociolgica do passado brasileiro em
favor de uma anlise de cunho eminentemente histrico, (MELLO, 1995: 189) dando maior
nfase, como um historiador, pertinncia da particularidade dos acontecimentos em
detrimento das teorizaes gerais dos socilogos. Neste nterim, Srgio Buarque executou
1
Cf. Corpo e Alma do Brasil. Ensaio de Psicologia Social. In. (MONTEIRO e EUGNIO, 2008:583-600).
3
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
diversas incurses a bibliotecas e arquivos em diversas regies do pas e tambm do
exterior, que resultaram em inmeros cadernos de anotaes (MONTEIRO, 1999: 208-9).
Muitos destes encontram-se no Arquivo Central do Sistema de Arquivos da Unicamp (Siarq
Unicamp), no Fundo Privado de Srgio Buarque de Holanda2. A segunda edio data de
1947 e possui considerveis modificaes, sendo que algumas foram do ponto de vista
estilstico e formal. O captulo O passado agrrio foi destrinchado em dois, chamados
Herana rural e O semeador e o ladrilhador respectivamente. As notas de esclarecimento
foram dispostas no p-de-pgina. Na 3 edio, publicada em 1955, Holanda, acatando a
sugestes do editor, transfere todas as notas para o fim do livro, na seo Notas
(HOLANDA, 1995: 27). Nesta edio tambm foi acrescentado o debate com as objees de
Cassiano Ricardo ao homem cordial, que sero discutidas mais adiante. Ao no se
encontrarem no rodap, mas no final do texto, as notas corroboram para uma leitura mais
fluida do texto, alm de sinalizar que o autor no se furta a historicizar os seus argumentos,
quando julga necessrio.
Historicismo, Srgio Buarque e Razes do Brasil
Passemos agora para uma discusso sobre o historicismo, para em seguida
ensaiarmos uma articulao deste na redao de Razes do Brasil, sendo que, utilizaremos
a sugesto de Sandra Jatahy Pesavento da noo de palimpsesto
para essa apropriao
buarqueana. Esta idia nos ser bastante til, afinal, o prprio Srgio Buarque de Holanda
tecia crticas aos intelectuais brasileiros que apenas transportavam de maneira abstrata
modelos interpretativos importados, mantendo-se alheios e indiferentes ao conjunto social
do pas (DIAS, 1998: 13).
relevante lembrar que Srgio Buarque esteve na Alemanha durante todo o ano de
1929, entrevistando intelectuais deste pas, dentre os quais destacamos o escritor Thomas
Mann. Durante este perodo tomou contato com o texto de autores de diversas tendncias
filosficas e literrias 4. Assistiu ainda a algumas aulas na Universidade de Berlim, inclusive
Este acervo abriga notas que auxiliaram a concepo das obras Mones e Caminhos e Fronteiras.
Palimpsesto um manuscrito raspado por copista e polido a fim de possibilitar uma nova escrita. Na escrita de
Srgio isto seria uma espcie de inspirao intelectual, uma superposio de idias que no limitadora, mas
possibilita novas abordagens, em suma, uma teia que remete a um complexo entrecruzamento de textos lidos
pelo autor. Cf. (PESAVENTO, 2005).
4
Para uma abordagem mais detida da importncia da estadia de Srgio Buarque na Alemanha para a escrita de
Razes do Brasil sugerimos duas obras. Para a relao com Max Weber consultar (MONTEIRO, 1999). Para a
articulao com Wilhelm Dilthey, ver: (CARVALHO, 1997).
3
4
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
as de Friederich Meinecke, autor que desenvolveu importantes pesquisas sobre o conceito
de historicismo (DIAS, 1986: 7).
Comecemos nossa viagem germnica por Leopold von Ranke, uma das principais
referncias do pensamento historicista, que desenvolveu sua obra na segunda metade do
sculo XIX. Srgio Buarque de Holanda escreveu um substancial ensaio sobre este autor
publicado inicialmente pela Revista de Histria em 1974 e posteriormente, em 1979 na
introduo do volume sobre Ranke na coleo dos Grandes Cientistas Sociais (HOLANDA,
1979).
Historicismo um conceito polissmico e difuso. Com efeito, destacamos como um
dos principais traos desta corrente de pensamento o seu antagonismo ao Iluminismo e sua
proposta de que a Razo governa a Histria rumo liberdade (HEGEL, 2001: 64). Para o
historicismo no h uma idia a priori, uma estabilidade inerente natureza humana, nem
um conceito universal de homem. O que interessa ao historiador so as mudanas pelas
quais o homem passou, descontinuidades que vem a tona quando se leva em considerao
a passagem do tempo, elemento indispensvel Histria. O historicismo relativiza,
particulariza, historiciza todas as normas e valores de uma sociedade
, inclusive o
conhecimento que produzido sobre ela (CHAVES, 2008: 399). Segundo Srgio Buarque,
esta corrente de pensamento levava a uma reflexo individualizante e historizante, isto ,
tendente a mover-se de acordo com o curso imprevisvel da histria (HOLANDA, 1979: 9).
O pensamento historicista tambm diverge do iluminista quanto ao estatuto do
passado. Se para o racionalismo das Luzes, a partir do sculo XVIII, sobretudo com a
Revoluo Francesa, h uma ruptura do presente com o passado, para os historicistas o
passado persiste e influi na vida atual. Aquilo que o homem inclui seu passado, que de
alguma forma ainda persiste no presente (REIS, 2006: 217).
Neste sentido, podemos estabelecer uma relao com a escrita de Razes do Brasil,
uma vez que, um dos fios condutores da obra, o apontamento de forma crtica das
permanncias do passado ibrico no presente brasileiro, cujo principal indicador seria
justamente a cordialidade, que, como apontaremos ao longo do texto, no vista como uma
essncia a priori, metafsica, mas historicizada e particularizada no tempo.
Logo no incio de seu ensaio sobre Ranke, Srgio Buarque sinaliza uma polmica
com o filsofo alemo Karl Popper em torno da categoria historicismo. Holanda afirma na
Tal posicionamento levou o historicismo a ser acusado de relativismo tico, desprovido de valores e
convices. Alguns crticos apontavam que o vcuo decorrente do abandono de alguns valores humanos
fundamentais poderia ser preenchido pela anuncia violncia ou mesmo pela ideologia fascista. Cf.
(HOLANDA, 1979: 10).
5
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
primeira nota de rodap do texto que as formas historismo e historicismo foram
intercambiveis durante muito tempo, sendo que fora dos pases de lngua alem
prevaleceu a forma historicismo. Entretanto, Srgio Buarque prefere utilizar ao longo de
sua exposio a forma historismo. Justifica esta escolha em face da aplicao que Karl
Popper e o racionalismo crtico anglo-americano fazem do historicismo s teorias que tem
como proposta uma previsibilidade da histria. Estariam includos neste grupo Hegel, Marx,
Comte e Mill (HOLANDA, 1979: 8).
Abordando mais diretamente agora a figura de Ranke 6, destacamos que apesar
deste sofrer inmeras crticas, como j indica o ttulo do ensaio, Srgio Buarque v
atualidade no pensamento rankeano. Ranke inseriu nos estudos histricos o sistema de
seminrios e primava pelo rigor na crtica documental que minoraria a subjetividade do
pesquisador afim de que a Histria alcanasse seu estatuto cientfico. Alm disto, tambm
defendia uma separao estrita entre Histria e Filosofia. (Algo consoante ao programa da
Escola dos Annales). O historiador no deveria filosofar nem colocar-se no lugar de juiz do
passado. Quanto a isto, Srgio Buarque sustenta que a polmica expresso tal como
efetivamente sucedeu, que Ranke empregara para sintetizar seu objetivo na escrita da
histria, no diz respeito a um apagamento total da do autor para que somente os fatos
venham tona. Na esteira de Marc Bloch, Srgio Buarque defende que esta expresso
mais uma definio de que o ofcio do historiador no consiste em ser juiz do passado,
refere-se mais a probidade, do que a imparcialidade, esta sim cara aos juizes (BLOCH,
2001: 125). Holanda defende ainda que o pensamento de Ranke no apresenta um sentido
teleolgico para a Histria (sendo esta inclusive a razo da preferncia pelo termo
historismo, como foi dito acima), antes, prima pela descontinuidade histrica.
Esta interrupo da continuidade para matizar as particularidades nos parece um
aspecto relevante quanto ao mtodo de escrita de Razes do Brasil, onde percebemos que
um certo esprito de relativizao, cuidando das particularidades e evitando as
generalizaes, parece pautar o trabalho (MONTEIRO, 1999: 145). Este mtodo anlogo
ao historicismo est inserido num esforo de Srgio Buarque em diferenciar-se de outras
Gostaramos de pontuar ainda que a abordagem que Holanda faz de Ranke foi arrojada, uma vez que, na
poca de publicao do referido artigo o autor alemo sofria crticas hostis tanto pelo lado da Escola dos Annales
(que viam em Ranke uma espcie de crnica, uma narrativa evolutiva e cronolgica sem nexos causais que
explicassem o argumento de forma cientfica) quanto pelos historiadores vinculados ao marxismo. (estes o
criticavam por ter uma postura reacionria, subserviente legitimao do nacionalismo alemo, que eliminava da
histria os interesses sociais e as lutas de classe.). Cf. (PESAVENTO, 2005: 23).
6
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
obras que visavam pintar um retrato do Brasil, incorrendo, para tanto, na sedutora
formulao de uma teoria geral esquecendo-se da importncia dos instantes particulares. 7
Dessa forma, afirmamos que o historicismo que pensamos estar articulado em
Razes do Brasil se afasta da definio de G. Scholtz no Dicionrio Histrico de Filosofia,
que via no historicismo uma forma de pesquisa que pode tematizar tudo o que passou, sem
se perguntar pelo seu sentido e pela sua relao com o presente (CHAVES, 2008: 399). A
posio de Holanda quanto relao da escrita da histria com o presente fundamental
para a anlise da obra em questo e ser destacada ao longo do presente texto.
Gostaramos de enfatizar que embora tenhamos recorrido ao texto de Srgio
Buarque sobre Ranke escrito cerca de 40 anos aps a publicao da primeira edio de
Razes do Brasil, no queremos afirmar que esta era exatamente a sua concepo de
historicismo quando da escrita da obra em questo. No descartamos tambm que tenha
havido ao longo do tempo mudanas em sua concepo 8, com efeito, julgamos ser esta
uma articulao vlida e elucidativa feita a posteriori.
Com efeito, a adeso de Srgio Buarque ao historicismo da historiografia rankeana
assim como a qualquer outra corrente terica no total, uma vez que so sublinhados
seus aspectos inatuais. Um destes a proeminncia na obra do historiador alemo de
grupos polticos e sociais privilegiados. Segundo o autor de Razes do Brasil, difcil negar
completamente o historicismo, pois este mais uma mentalidade, um modo de ver e ser
do que um mtodo ou escola (HOLANDA, 1979: 33-4).
Cordialidade, uma categoria polmica.
Aps estes introdutrios apontamentos tericos, os pargrafos subseqentes
enfocaro Razes do Brasil de uma forma mais incisiva, bem como a categoria da
cordialidade. Jos Carlos Reis sintetiza bem a inteno de Srgio Buarque na publicao da
obra. Segundo ele, atravs da anlise das heranas ibricas, Holanda constata que a
tentativa de implantao da cultura europia a um territrio que era estranho a sua tradio
fez com que ainda hoje sejamos desterrados em nossa prpria terra (HOLANDA, 1995: 31)
neoportugueses guiados por uma tradio que nos alheia. Com os novos tempos
(captulo 6), nos quais a nossa revoluo (captulo 7) se origina, deveramos nos tornar
Srgio Buarque de Holanda chega a imputar este recurso a Gilberto Freyre na escrita de Sobrados e
Mucambos. Cf. (ROCHA, 2008).
8
Este seria assunto inclusive para um novo estudo que cotejasse outras obras alm da analisada no presente
artigo.
7
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
ento ps-portugueses, ou seja, brasileiros, superando assim o passado ibrico (REIS,
2007: 123)! No objetivo deste ensaio traar um panorama de todos os sete captulos de
Razes do Brasil, portanto nos permitiremos a liberdade de enfocar doravante o ponto fulcral
da obra de Srgio Buarque de Holanda e tema do presente texto: a cordialidade.
Quanto a isto, Holanda ressalta que a categoria cordialidade havia sido cunhada
inicialmente por Ribeiro Couto e no deve ser confundida com bondade ou polidez. O
homem cordial aquele no qual o campo afetivo prevalece sobre a racional, o privado sobre
o pblico, o familiar sobre o estatal. Tal comportamento torna-se um obstculo, na medida
em que o Estado no uma extenso do ambiente familiar, havendo antes, uma
descontinuidade e at uma oposio entre ambos (HOLANDA, 1995: 141). O homem cordial
tambm avesso a relaes impessoais, a hierarquias e rituais. O ambiente domstico
acompanha o indivduo mesmo quando este se situa fora dele. quando o privado
transborda para o pblico (A. FILHO, 1990: 6). Mesmo em situaes marcadas pela
impessoalidade como o mundo dos negcios, observa-se essa invaso dos laos de
afetividade e de personalismo. Neste sentido, o autor recorre ao domnio da lingstica para
exemplificar seu argumento apontando para a inclinao do brasileiro em empregar o sufixo
inho s palavras e aos nomes prprios, numa tentativa de se familiarizar com os mesmos,
aproximando-as do corao, tornando-as mais acessveis. Ainda neste domnio, Srgio
Buarque aponta para a tendncia omisso do nome de famlia quando do tratamento
social, havendo um predomnio do nome de batismo, numa tentativa de derrubar
psicologicamente as barreiras intimidade que o nome de diferentes famlias poderia
erguer. Mesmo para conquistar um cliente necessrio fazer dele antes um amigo
(HOLANDA, 1995: 148-9).
O homem cordial ao ocupar posies pblicas no faz distino entre o ambiente
privado e o pblico. Este funcionrio patrimonial o oposto do burocrata proposto por Max
Weber, e exerce sua funo tendo em vista seus interesses particulares, sem priorizar o
interesse coletivo dos cidados, algo que seria tpico do Estado burocrtico. A prpria
escolha dos que vo desempenhar as funes pblicas tem como critrio menos a
capacidade do indivduo do que a confiana pessoal que este inspira (HOLANDA, 1995:
145-6).
O emprego da categoria cordialidade suscitou um acalorado debate entre o poeta
Cassiano Ricardo e Srgio Buarque de Holanda. Em 1948 Cassiano publicou algumas
objees na revista Colgio sob o ttulo Variaes sobre o Homem Cordial. Neste texto, o
autor sustenta que cordial no seria a melhor palavra para definir o homem brasileiro, sendo
8
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
mais afeita a fechos de cartas. Para Cassiano, cordial quer dizer muito mais polido do que
homem de corao (RICARDO, 1963: 196). A bondade e no a cordialidade seria nossa
contribuio ao mundo, acrescendo-se a isso que o brasileiro saberia tirar proveito desta
caracterstica, numa certa tcnica de bondade. Cassiano desenvolve uma Teoria da
bondade Natural afirmando que a bondade brasileira teria nascido naturalmente, na terra
recm descoberta, assim que recebemos os primeiros degredados (RICARDO, 1963: 197).
Mesmo na conquista teramos sido menos cruis que os demais povos, sendo um dos
primeiros pases a abolir a pena de morte.
Na edio seguinte da mesma revista, Srgio Buarque publicou uma Carta a
Cassiano Ricardo com suas consideraes acerca da polmica. Um dos principais pivs da
discrdia entre os autores a passagem na qual Holanda sustenta que a
Cordialidade, estranha, por um lado, a todo formalismo e convencionalismo social,
no abrange, por outro, apenas e obrigatoriamente, sentimentos positivos e de
concrdia. A inimizade bem pode ser to cordial como a amizade, nisto que uma e
outra nascem do corao, procedem assim da esfera do ntimo, do familiar, do
privado (HOLANDA, 1995: 205).
Para Cassiano Ricardo era inadmissvel a associao da inimizade cordialidade,
mesmo nos termos que destacou Srgio Buarque, no sentido de proceder do corao, pois
para aquele, ainda que haja conflito Depois do entrevero, o vencedor chora no ombro do
vencido e o que caracteriza o brasileiro sua ausncia de capacidade para ser inimigo, sua
vocao para a fraternidade (RICARDO, 1963: 208).
Com efeito, nesta carta, o autor de Razes do Brasil afirma que no se agarra com
unhas e dentes a expresso cordial e que a utilizou na falta de uma melhor. No entanto, diz
no ter sido convencido pelas objees de Cassiano Ricardo sobre uma maior pertinncia
do termo bondade e tambm da tcnica de bondade que este props. Para demonstrar a
pertinncia de seu argumento, Srgio Buarque recorreu etimologia da palavra (HOLANDA,
1963: 212). Cordial deriva do sufixo latino cordis, isto , corao, no sentido de sede dos
sentimentos, e no apenas dos bons sentimentos, ressalta Srgio Buarque. Holanda ainda
destaca que no acredita na bondade natural dos brasileiros tal como o autor das
Variaes sobre o homem cordial props, e no pretende que estes sejam melhores ou
piores do que outros povos.
At mesmo aproximaes entre a cordialidade e o conceito de bom selvagem de
Rousseau foram empreendidas por alguns leitores, com efeito, Srgio Buarque tratou de
relativizar tambm esta interpretao. Ao analisar o homem cordial Holanda demonstra
9
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
como o passado permanece e invade o presente, impedindo a construo de um futuro
novo, ps-portugus, autenticamente nacional, devendo, portanto, ser superado.
George Avelino Filho sublinha que estas caractersticas do homem cordial se
constituem em um obstculo para civilidade nos moldes weberianos, que consistiria em um
processo de racionalizao e impessoalizao das relaes humanas. A averso a regras
definidas e a hierarquias apresentada pelo homem cordial, bem como sua busca constante
por intimidade com o interlocutor tambm no se encaixariam no processo civilizador
discutido por Norbert Elias, uma vez que, tal processo, teria incio justamente na conteno
dos impulsos pessoais do indivduo, na rejeio daquilo que o corao quer, e na
normatizao de hierarquias bem definidas, tpicas da sociedade de corte (ELIAS, 1994).
Estes traos da cordialidade so possveis segundo Holanda em virtude de uma herana
rural (captulo 3), pois na fazenda as relaes so regidas por critrios familiares, pessoais.
Nesse sentido, a cordialidade tambm seria um estorvo civilidade no modelo de Richard
Sennet, que remove a civilidade da corte e a coloca no espao urbano, onde as relaes
primariam pela artificialidade, o distanciamento entre os indivduos no qual o ocultamento de
suas reais intenes seria fundamental para que estes alcanassem seus objetivos (A.
FILHO, 1990: 10).
Tanto Elias na sociedade de corte quanto Senett na cidade pontuam como condio
fundamental para o surgimento da civilidade uma limitao do particularismo local, da
intimidade, dos impulsos emocionais. Uma conteno destes impulsos levaria a formas
artificiais de sociabilidade reconhecida por todos que constituem o espao pblico. A
civilidade seria importante na superao da cultura da personalidade e na criao de um
espao poltico mais abrangente (A. FILHO, 1990: 10).
Fernando Henrique Cardoso em seu clebre ensaio Os livros que inventaram o
Brasil, sublinha que o homem cordial apresenta uma pulso por reter os privilgios
individuais, passando por cima inclusive de regras gerais se necessrio (CARDOSO, 1993:
29). O culto ao personalismo poderia at desembocar na obedincia cega a um lder
carismtico, que ao assumir o papel de pai, fatalmente iria ao encontro da inclinao cordial
por intimidade, familiaridade. Tais qualidades, conclui Fernando Henrique, no seriam
compatveis com uma sociedade democrtica, com a ntida separao entre o pblico e o
privado, normatizada por regras de conduta claramente definidas, impessoais.
Para finalizar a questo sobre a cordialidade cabe ressaltar que Srgio Buarque no
a v como uma essncia, uma caracterstica do carter nacional que permanece a mesma
ao longo da histria. A cordialidade resultaria da materializao da cultura da personalidade
10
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
na colnia, herana ibrica, ruralismo e cordialidade so coisas que andam juntas. Neste
sentido, podemos apontar um dilogo de Srgio Buarque com Ranke, na medida em que, a
cordialidade ao no ser vista como uma essncia historicizada, particularizada, ou seja,
colocada no tempo, na histria. O historicismo primava por destacar a mutabilidade das
aes humanas no tempo, um movimento em constante devir. A esta mutabilidade estava
atrelada a unicidade, cada evento possuiria uma historicidade nica, irrepetvel. Parece-nos
ento que a principal absoro da escrita rankeana em Razes do Brasil a aplicao da
noo de cordialidade como um constante devir, que seria historicizada, particularizada em
cada contexto (PESAVENTO, 2005).
A cordialidade , sobretudo, uma ferramenta de anlise, no pretende ser uma
generalizao impermevel, o que, segundo Monteiro, aproxima Holanda aos tipos ideais de
Max Weber. No estabelecimento do tipo ideal no se busca a fixao de um carter
definitivo do ser social. Pelo contrrio
A utilizao do tipo ideal, neste caso, permite ao autor imprimir sua interpretao
um sentido de mobilidade e virtualidade, adequado interpretao histrica.
Permite, [...] revelar o campo conflitivo dos valores, pelos quais os indivduos ho
de guiar suas aes, adentrando mesmo o terreno da poltica. J com as
determinantes psicolgicas fixas de um carter nacional brasileiro, a anlise do
historiador se ossificaria, perdendo em profundidade e em adequao
(MONTEIRO, 1999: 199).
Nossa revoluo: rumo relevncia do lugar social
Diante do que foi dito, problematizemos ento a Nossa revoluo, (captulo 7)
proposta e ansiada por Srgio Buarque. Tal revoluo teria se iniciado silenciosamente com
a abolio da escravido que ajudou a solapar o poder dos velhos proprietrios rurais, e
teve como outro acontecimento marcante a proclamao da repblica. O objetivo dessa
revoluo revogar a velha ordem colonial e patriarcal, e tambm suas conseqncias
morais, sociais e polticas. Com a nossa (lenta) revoluo a cidade deixa de ser
complemento do mundo rural para ganhar existncia prpria, e ser o centro das atenes. A
lavoura deixa de ser um mundo fechado em si mesmo, auto-sustentvel, para tornar-se
apenas um meio de obteno de riquezas, sendo que, alguns proprietrios passaram a
residir de forma permanente nas cidades. Este processo tambm abriria espao para a
emergncia de camadas oprimidas da populao.
11
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
O mundo urbano deveria caracterizar-se mais pelos direitos do que pelos privilgios,
mais pelas regras gerais do que pela afetividade cordial. No entanto, segundo Srgio
Buarque, mesmo que na Repblica a urbanizao tenha sido contnua, essa revoluo
ainda no havia se concretizado, o que faria com que vivssemos entre dois mundos, um
definitivamente morto e outro que luta por vir luz (HOLANDA, 1995: 180).
Neste ltimo captulo de Razes do Brasil h uma oposio entre duas trades: lusobrasileiro/domnio rural/agricultura x imigrante/cidade/indstria. De acordo com Antnio
Candido, ao fazer aluso do fim da tradio colonial de raiz portuguesa, ferida de morte pela
Abolio, Srgio Buarque desloca o foco da anlise para o Brasil de seu tempo, quando a
urbanizao dissolveria a herana rural (CANDIDO, 1998: 84). Posteriormente, discutiremos
a importncia central que a preocupao com o tempo presente teve na escrita de Razes
do Brasil.
Em nossa revoluo as concluses caminham rumo a uma crtica ao liberalismo,
rejeitando tanto a soluo fascista dos integralistas, quanto dos comunistas (CANDIDO,
1998: 84). O autor em questo no aderia nem ao otimismo nacionalista com sua crena
triunfalista no progresso, nem s lamentaes nostlgicas que concebiam o passado como
uma realidade mais agradvel e amena a qual se deveria retornar (MONTEIRO, 1999: 200).
Por fim, discorreremos um pouco sobre a importncia do lugar social do historiador e
tambm como isso se aplicaria na redao de Razes do Brasil. Michel de Certeau em seu
seminal texto A operao historiogrfica explana bem a relevncia do lugar de onde o
historiador escreve:
Certamente no existem consideraes, por mais gerais que sejam, nem leituras,
tanto quanto se possa estend-las, capazes de suprimir a particularidade do lugar
de onde falo e do domnio em que realizo uma investigao (CERTEAU, 2006:
65).
De Certeau prossegue suas consideraes acerca do que fabrica o historiador
quando faz histria, destacando que qualquer pesquisa histrica est inserida em um
contexto, um lugar cultural, poltico e scio-econmico. O autor francs conclui que o lugar
de onde o historiador fala, o que permite determinadas pesquisas e interdita outras. Da
coleta documental redao da obra, a prtica historiogrfica est fincada neste lugar social
(CERTEAU, 2006: 74).
Aplicando tais consideraes obra de Srgio Buarque, podemos concluir que a
efervescncia da Semana de Arte Moderna de 1922 e seu af em redescobrir o Brasil, bem
12
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
como a Revoluo de 1930 e as demais obras historiogrficas, editadas nesta dcada que
pensavam o problema do Brasil 9, auxiliam a compreenso do lugar que tornou a pesquisa e
publicao de Razes do Brasil como algo no-interditado, ou seja, na esteira de De
Certeau, sustentamos que o lugar social no qual Srgio Buarque estava inserido tornou
possvel o empreendimento de uma pesquisa que tinha como cerne o problema nacional.
Aprofundemos ento esta questo do lugar de onde Srgio Buarque de Holanda
escreve e de sua preocupao com o tempo presente, e at que ponto isto identificvel
em sua obra. Para tanto, articularemos como referencial terico autores como o j citado
Fernando Henrique Cardoso, e ainda os alemes Friederich Nietzsche e Reinhart Koselleck.
Segundo Candido, o que distingue Razes do Brasil das demais tentativas de interpretao
do Brasil da dcada de 1930 justamente esta ateno dirigida ao presente, uma anlise do
passado brasileiro que desgua numa interveno poltica de singular atualidade
(CANDIDO, 1998: 84). Ao mesmo tempo em que uma anlise do passado uma proposta
de revoluo, de transformao do presente.
Para Fernando Henrique a principal preocupao de Holanda na escrita de Razes
do Brasil era a instituio de uma verdadeira democracia no Brasil (CARDOSO, 1993), j
que o prprio Srgio Buarque afirmara que A democracia no Brasil nunca passou de um
lamentvel mal-entendido (HOLANDA, 1995: 160). Tal mal-entendido somente seria
resolvido com a superao das razes ibricas. Indo alm da anlise de Fernando Henrique
Cardoso, gostaramos de destacar que o aceno de mudana, o incio da nossa revoluo
est intrinsecamente ligado ao lugar de onde Srgio Buarque de Holanda fala. No
coincidncia que os momentos de ruptura, sejam elas micro ou no, sejam exatamente
aqueles momentos em que So Paulo est no centro da ateno do pas. Seja no advento
do bandeirismo, que apontado como uma forma original de adaptao do colonizador s
condies locais, seja a partir da abolio da escravido e a ascenso do caf como
principal produto exportado pelo pas. Srgio Buarque chega a classificar o caf como uma
planta democrtica! Tambm relacionado a isto est o processo de urbanizao e a
proclamao da repblica que com a poltica dos governadores confirmou definitivamente
So Paulo como um centro de deciso poltica nacional. No de se surpreender tambm
que a herana ibrica a ser superada tem seus momentos mais marcantes em perodos nos
quais So Paulo no est em primeiro plano na poltica nacional.
Quanto a isto lembramos a j mencionada fundao da coleo Documentos Brasileiros, da qual Razes do
Brasil foi o primeiro volume a ser publicado em 1936.
13
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
Desembaraando-se das razes ibricas em favor do tempo presente
Concluiremos este ensaio com uma tentativa de aproximao da noo proposta por
Srgio Buarque de superao das razes ibricas com o conceito nietzschiano de fora
plstica e tambm com as categorias desenvolvidas por Koselleck de espao-de-experincia
e horizonte-de-expectativa.
Reinhart Koselleck props duas categorias meta-histricas - espao-de-experincia e
horizonte-de-expectativa - que tem a fortuna de reunir tempo e espao na mesma metfora.
Seu objetivo uma mediao entre futuro e passado, um entrelaamento intermediado pelo
presente. A experincia seria ento o passado atualizado no presente, quando eventos so
reunidos, ganham inteligibilidade e tornam-se possveis de serem lembrados. De modo
anlogo, a expectativa o futuro-tornado-presente, um ainda-no amplo o suficiente para
abarcar tanto os anseios quanto as inquietudes ou planejamentos. Cabe ao presente ento
a intermediao entre as duas categorias que jamais se recobrem, uma vez que so
assimtricas. O presente no visto como mero depsito de acontecimentos, mas
seleciona, ressignifica e reconstri criticamente cada passado, tendo em vista suas
expectativas e convices. Desta tenso assimtrica, mas no antinmica, segue-se que
no possvel deduzir uma expectativa pelo simples exame de uma experincia, a relao
entre ambas no meramente determinista (KOSELLECK, 2006: 310).
Koselleck tambm afirma que at as ltimas dcadas do sculo XVIII a concepo
de histria preponderante era a de historia magistra vitae (histria mestra da vida). Em
linhas gerais tal concepo estava galgada na idia de que o passado ofereceria lies ao
presente, e elucidaria o futuro. Qualquer mudana na temporalidade histrica ocorreria em
um ritmo to lento que a percepo dos atores era de que nada havia de novo. Utilizando as
categorias koselleckianas possvel afirmar que havia uma ntida correspondncia entre o
espao-de-experincia e o horizonte-de-expectativa. Tal correspondncia garantia o olhar
para o passado em busca da exemplaridade.
Entretanto, aps a Revoluo Francesa observa-se uma ruptura com essas noes
que passaram a ser relacionadas ao Antigo Regime que deixou de ser exemplo para o
futuro para ser visto como expresso maior de atraso. A partir da Modernidade, e de sua
inclinao para o novo, para o efmero, um tempo em que tudo o que slido se
desmancha no ar, (MARX, 1998: 14) houve uma negao do conceito de histria magistra
vitae. A relao entre espao-de-experincia e horizonte-de-expectativa passou a ser
conflituosa, observou-se ento uma ciso entre as mesmas na busca do novo. Nesse
14
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
sentido, o espao-de-experincia foi encurtado, chegou-se a pretender que ele
desaparecesse completamente para que as expectativas estivessem liberadas do limite
imposto pelo passado. Segundo Koselleck, na Modernidade a relao entre espao-deexperincia e horizonte-de-expectativa passou a ser conflituosa, o crescimento de uma
implicaria no encolhimento da outra. Quanto menos espao se concedesse ao passado,
mais o horizonte estaria aberto para novas perspectivas (KOSELLECK, 2006: 326).
Levando em conta que a experincia diz respeito memria, inteligibilidade
conferida aos eventos passados, e a expectativa remete a um futuro-tornado-presente, que
abarca tanto os anseios quanto as inquietudes ou planejamentos, sugerimos a articulao
destes conceitos em Razes do Brasil da seguinte forma: Se um espao-de-experincia
(passado ibrico) demasiadamente extenso tem limitado o horizonte-de-expectativa
nacional, a proposta de Srgio Buarque justamente um encurtamento deste espao, das
razes ibricas, da cordialidade, (do transbordamento do privado para o pblico) para que
um horizonte-de-expectativa autenticamente nacional se abra, um horizonte democrtico e
urbano, marcado pelas relaes impessoais. Dessa forma, deixaramos de ser desterrados
em nossa prpria terra. No devemos nos esquecer que, como sustenta Koselleck, esta
mediao entre espao-de-experincia e horizonte-de-expectativa realizada pelo presente,
o que refora o destaque no apenas do lugar no qual Holanda estava inserido quando da
produo de sua obra, como tambm da importncia que este confere ao presente na
escrita da histria, assim como na superao do passado colonial, ibrico.
Friederich Nietzsche em sua Segunda considerao intempestiva diz que no temos
necessidade da histria como um mimado passeante no jardim do saber, mas somente na
medida em que esta sirva vida, ao (NIETZSCHE, 2003: 5). O filsofo do martelo tece
pesadas crticas ao que ele chamou doena histrica, tpica do sculo XIX, quando um
excesso de passado intimidaria o homem do presente, impedindo que o mesmo expandisse
sua vontade-de-potncia e criasse novos valores para o futuro. Exaltava-se tanto os feitos
do passado que o homem do presente no via espao para sua prpria interveno, um
tempo em que os mortos enterram os vivos (NIETZSCHE, 2003: 24).
Como antdoto doena histrica, Nietzsche prope o modo a-histrico de existir,
um momento no qual o homem deveria viver momentaneamente fora da histria, exercendo
sua faculdade de esquecimento, vivendo eternamente cada presente, libertando-se do que
passou. Um homem, um povo ou uma cultura que no possusse a faculdade de
esquecimento estaria condenando a no acreditar mais em seu prprio ser (NIETZSCHE,
2003: 9). Percebemos ento uma proximidade entre Holanda e Nietzsche na crtica de um
15
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
excesso de passado (razes ibricas) que no caso de Razes do Brasil visto como um
obstculo ao afloramento de uma cultura legitimamente nacional. Entretanto, Srgio
Buarque de Holanda no prope um esquecimento total das razes, mas uma submisso
dessas aos propsitos daquilo que chamou de nossa revoluo. Algo similar ao que
Nietzsche pretendeu com seu conceito de fora plstica, que consistia na capacidade de
submeter a histria a servio da vida, da ao, atravs de uma apropriao seletiva de
alguns eventos do passado de tal forma que o horizonte-de-expectativa seja expandido, em
favor da vida, do tempo presente. Pois, para Nietzsche, o conhecimento do passado, em
todas as pocas, s desejado a servio do futuro e do presente, no para o
enfraquecimento do presente ou para o desenraizamento de um futuro vitalmente vigoroso
(NIETZSCHE, 2003: 32).
Analogamente, para Holanda, a lembrana do passado ibrico deve ser feita apenas
na medida em que contribua para que o superemos, deixemos de ser neo-portugueses,
desterrados em nossa prpria terra, e nos tornemos enfim ps-portugueses
10
. Somente a
partir da fora do presente tendes o direito de interpretar o passado. [...] Apenas aquele que
constri o futuro tem o direito de julgar o passado (NIETZSCHE, 2003: 56-7).
A questo da superao do passado em favor do presente tambm pode ser
encontrada em artigos de Srgio Buarque escritos posteriormente a Razes do Brasil. Em O
senso do passado (publicado inicialmente no Dirio Carioca em 1952) ele afirma no ser
razovel que o historiador queira ver e enaltecer o passado no presente, muito menos
tentar refazer o primeiro no ltimo, sob pena de incorrer num mero pastiche. Aponta como
uma das principais qualidades do historiador a faculdade de apreender a vida presente
(HOLANDA, 2004: 103). Refere-se ainda a clebre fala de Henri Pirenne citada por Marc
Bloch sobre a diferena entre o historiador e um antiqurio. Se eu fosse um antiqurio, s
teria olhos para as coisas velhas. Mas sou um historiador. por isso que amo a vida. Essa
faculdade de apreenso do que vivo, eis justamente, com efeito, a qualidade mestra do
historiador (BLOCH, 2001: 65-6).
No artigo Apologia da Histria (publicado a princpio no Folha da Manh em 1950)
Srgio Buarque sustenta que este culto do passado no deixa de atingir pases sem longo
passado como o nosso. Pelo contrrio, nestes parece haver uma propenso da parte de
alguns para forjar um passado artificial, recheado de ilustres linhagens. Para nosso autor, a
histria uma disciplina, que se vem transformando, cada vez mais, de simples devaneio
10
Este apenas um dos caminhos de possvel articulao das obras de Srgio Buarque e Nietzsche. Para uma
outra articulao que passa inclusive pela questo do historicismo indicamos (CHAVES, 2008).
16
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
esttico, ou exerccio erudito, em questo vital para a poca presente (HOLANDA, 2004:
107).
Esta convico de que a Histria uma questo vital para o tempo presente, nos
parece ter sido uma das principais motivaes para que Srgio Buarque escrevesse Razes
do Brasil, sinalizando inclusive para o lugar social onde estava inserido, pois para este,
assim como para Goethe11, Escrever histria um modo de desembaraar-se do passado
(GOETHE apud HOLANDA, 2004: 107).
Referncias bibliogrficas
A. FILHO, George. As razes de razes do Brasil. In: Novos Estudos Cebrap. So Paulo,
n18, p.33-41, 1987.
A. FILHO, George. Cordialidade e civilidade em razes do Brasil. In: Revista Brasileira de
Cincias Sociais. So Paulo. Vol.5, n 12, p.5-15, 1990.
ARANTES, Paulo Eduardo. Sentimentos da dialtica na experincia intelectual brasileira;
dialtica e dualidade segundo Antnio Candido e Roberto Schwarz. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1992.
BLOCH, Marc. Apologia da Histria ou O ofcio do historiador. Trad: Andr Telles. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, Ed. 2001.
CANDIDO, Antnio. A viso poltica de Srgio Buarque de Holanda. In: CANDIDO, Antnio.
(org.) Srgio Buarque de Holanda e o Brasil. So Paulo: Fundao Perseu Abramo, 1998.
CARDOSO, Fernando Henrique. Os livros que inventaram o Brasil. In: Novos Estudos
Cebrap. So Paulo, n 37, p.21-35, 1993.
CARVALHO, Marcus Vincius Corra. O exagero na historiografia de Srgio Buarque de
Holanda In: MONTEIRO, Pedro Meira; e EUGNIO, Joo Kennedy (orgs.). Srgio Buarque
de Holanda: Perspectivas. Campinas: Editora da Unicamp, Rio de Janeiro: Editora da UERJ,
2008.
CARVALHO, Marcus Vincius Corra. Razes do Brasil, 1936. Tradio Cultura e Vida.
Dissertao de Mestrado em Histria Instituto de Filosofia e Cincias Humanas da
Unicamp, 1997.
CHAVES, Ernani. O historicismo de Nietzsche, segundo Srgio Buarque de Holanda. In:
MONTEIRO, Pedro Meira; e EUGNIO, Joo Kennedy (orgs.). Srgio Buarque de Holanda:
Perspectivas. Campinas: Editora da Unicamp, Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2008.
DE CERTEAU, M. A operao historiogrfica. In: A Escrita da Histria. Trad: Maria de
Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 2006.
11
Srgio Buarque escreveu dois artigos sobre uma traduo do Fausto de Goethe feita por Gustavo Barroso.
Para uma anlise mais alentada sobre a relao de Holanda com Goethe passando pelo prisma do romantismo
ver (CARVALHO, 2008).
17
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Srgio Buarque de Holanda, Historiador. In: Srgio
Buarque de Holanda. So Paulo: tica. 1986. (Coleo Os Grandes Cientistas Sociais.
v.51).
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Poltica e sociedade na obra de Srgio Buarque de
Holanda. In: CANDIDO, Antnio. (org.) Srgio Buarque de Holanda e o Brasil. So Paulo:
Fundao Perseu Abramo, 1998.
DUTRA, Eliana. F. Prefcio. In: Um historiador nas fronteiras. O Brasil de Srgio Buarque de
Holanda PESAVENTO, Sandra Jatahy. (org.) Editora UFMG. Belo Horizonte: 2005.
ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. 2 Volumes. Trad: Ruy Jungmann. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, Ed.1994.
HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. A Razo na Histria: Uma introduo Filosofia da
Histria. Trad: Beatriz Sidou. So Paulo: Centauro, 2001.
HOLANDA, Srgio B. Razes do Brasil. (Cf. Apndices: Variaes sobre o Homem Cordial e
Carta a Cassiano Ricardo). 4 edio revista pelo autor. Braslia: Editora da UnB, 1963.
HOLANDA, Srgio B. Razes do Brasil. 26 edio. So Paulo: Companhia das Letras..
1995.
HOLANDA. Srgio B. O atual e o inatual em Leopold von Ranke. In: HOLANDA, Srgio B.
(org) Ranke. So Paulo: tica, 1979.
HOLANDA, Srgio B. Apologia da Histria. In. HOLANDA, Srgio B.; COSTA, Marcos (orgs).
Para uma nova histria. So Paulo: Editora Perseu Abramo, 2004.
HOLANDA, Srgio B. O senso do Passado. In: HOLANDA, Srgio B.; COSTA, Marcos
(orgs). Para uma nova histria. So Paulo: Editora Perseu Abramo, 2004.
KOSELLECK, Reinhart. Espao-de-experincia e horizonte-de-expectativa: Duas categorias
histricas. In: Futuro Passado. Contribuio semntica dos tempos histricos.
Contraponto, 2006.
MARX, Karl e ENGELS, Friederich. O Manifesto Comunista. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1998.
MELLO, Evaldo Cabral de. Razes do Brasil e depois. In. HOLANDA, Srgio B. Razes do
Brasil. So Paulo: Companhia das Letras, 1995.
MONTEIRO, Pedro Meira. A queda do aventureiro. Aventura, cordialidade e os novos
tempos em Razes do Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 1999.
MONTEIRO, Pedro Meira; EUGNIO, Joo Kennedy (orgs.). Srgio Buarque de Holanda:
Perspectivas. Campinas: Editora da Unicamp, Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2008.
NIETZSCHE, Friederich. W. Segunda Considerao Intempestiva. Da utilidade e
desvantagem da histria para a vida. Trad: Marco Antnio Casanova Rio de Janeiro:
Relume Dumar. 2003.
18
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
NOSSA (CORDIAL) REVOLUO: o legado dos desterrados em sua prpria terra por Breno Mendes
REIS, Jos Carlos. Histria & Teoria. Historicismo. Modernidade. Temporalidade e Verdade.
3 edio. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
REIS, Jos Carlos. As Identidades do Brasil 1. De Varnhagen a FHC. 9 edio ampliada.
Rio de Janeiro: FGV, 2007.
RICARDO, Cassiano. Variaes sobre o homem cordial. In: HOLANDA, Srgio, B. Razes
do Brasil. Cf. Apndices. 4 edio. Braslia: Editora da UnB, 1963.
ROCHA. Joo Cezar de Castro. O exlio como eixo: bem sucedidos e desterrados. In:
MONTEIRO, Pedro Meira; e EUGNIO, Joo Kennedy (orgs.). Srgio Buarque de Holanda:
Perspectivas. Campinas: Editora da Unicamp, 2008.
PESAVENTO, Sandra. Jatahy. Cartografias do Tempo: palimpsestos na escrita da histria.
In: Um historiador nas fronteiras. O Brasil de Srgio Buarque de Holanda. PESAVENTO,
Sandra Jatahy. (org.). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
Recebido em: 05/04/2010
Aprovado em: 21/04/2010
19
Revista Histria em Reflexo: Vol. 4 n. 8 UFGD - Dourados jul/dez 2010
Você também pode gostar
- Programa Brasil II Ana Flavia 2sem 2017 FinalDocumento11 páginasPrograma Brasil II Ana Flavia 2sem 2017 FinalAna Flavia RamosAinda não há avaliações
- Os intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasNo EverandOs intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasAinda não há avaliações
- Re-escravização e Direitos no Brasil OitocentistaDocumento34 páginasRe-escravização e Direitos no Brasil OitocentistaIvan SilvaAinda não há avaliações
- A Resistência da Juventude Universitária Católica ao projeto de Ditadura: um legado à democraciaNo EverandA Resistência da Juventude Universitária Católica ao projeto de Ditadura: um legado à democraciaAinda não há avaliações
- A sociedade brasileira e a historiografia colonialDocumento3 páginasA sociedade brasileira e a historiografia colonialAline R. Maionese Caseira100% (1)
- À espera da verdade: empresários, juristas e elite transnacional: histórias de civis que fizeram a ditadura militarNo EverandÀ espera da verdade: empresários, juristas e elite transnacional: histórias de civis que fizeram a ditadura militarAinda não há avaliações
- 9788522811168-Historias Do Pos-Abolicao No Mundo AtlanticoDocumento305 páginas9788522811168-Historias Do Pos-Abolicao No Mundo AtlanticoCarla MagdenierAinda não há avaliações
- Fichamento CUNHA, Manuela Carneiro Da. Índios No BrasilDocumento3 páginasFichamento CUNHA, Manuela Carneiro Da. Índios No BrasilVinicius MottaAinda não há avaliações
- Chalhoub Sidney Trabalho Lar e Botequim Ana GuanaesDocumento7 páginasChalhoub Sidney Trabalho Lar e Botequim Ana GuanaesOlga ChiapimAinda não há avaliações
- Tese - O Império Das (Nas) Municipalidades.Documento602 páginasTese - O Império Das (Nas) Municipalidades.Williams Andrade De SouzaAinda não há avaliações
- A Atualização Do Conceito de QuilomboDocumento10 páginasA Atualização Do Conceito de QuilombohaborelaAinda não há avaliações
- Cultura política brasileira: introdução teóricaDocumento16 páginasCultura política brasileira: introdução teóricaGuilherme CamfieldAinda não há avaliações
- Visões de República - Almir BuenoDocumento314 páginasVisões de República - Almir BuenoElaine AmadoAinda não há avaliações
- LONER, Beatriz. Negros - Organização e Luta em PelotasDocumento17 páginasLONER, Beatriz. Negros - Organização e Luta em PelotasPierre Chagas100% (1)
- FRY, Peter. Feijoada e ''Soul Food''Documento8 páginasFRY, Peter. Feijoada e ''Soul Food''André AiresAinda não há avaliações
- ART Nivaldo Osvaldo DutraDocumento11 páginasART Nivaldo Osvaldo DutraMara LuAinda não há avaliações
- O populismo e as ciências sociais no Brasil: notas sobre a trajetória de um conceitoDocumento17 páginasO populismo e as ciências sociais no Brasil: notas sobre a trajetória de um conceitoAnita LazarimAinda não há avaliações
- Os Milagres de Juazeiro As Narrativas Das Beatas e Os Perigos para A Fé Católica PDFDocumento22 páginasOs Milagres de Juazeiro As Narrativas Das Beatas e Os Perigos para A Fé Católica PDFSelmo NascimentoAinda não há avaliações
- Laís M.reis Ferreira - Integralismo Na BahiaDocumento131 páginasLaís M.reis Ferreira - Integralismo Na BahiaChicofagundesAinda não há avaliações
- Nilma Lino Gomes - Alguns Termos e ConceitosDocumento24 páginasNilma Lino Gomes - Alguns Termos e ConceitosAnaAinda não há avaliações
- História Da Música Latina AmericanaDocumento3 páginasHistória Da Música Latina AmericanaCléo MoraesAinda não há avaliações
- A mensagem de Santos DumontDocumento98 páginasA mensagem de Santos Dumontpablo_tahimAinda não há avaliações
- Regimes autoritários no BrasilDocumento19 páginasRegimes autoritários no BrasilAnderson TorresAinda não há avaliações
- CODATO, Adriano. A Transformação Do Universo Das Elites No Brasil Pós-1930: Uma Crítica Sociológica. In: Flavio M. Heniz. (Org.) - História Social de Elites. São Leopoldo - RS: Oikos, 2011, P. 56-73.Documento26 páginasCODATO, Adriano. A Transformação Do Universo Das Elites No Brasil Pós-1930: Uma Crítica Sociológica. In: Flavio M. Heniz. (Org.) - História Social de Elites. São Leopoldo - RS: Oikos, 2011, P. 56-73.Adriano CodatoAinda não há avaliações
- Raízes do Brasil - Resenha do livro clássico de Sérgio Buarque de HolandaDocumento10 páginasRaízes do Brasil - Resenha do livro clássico de Sérgio Buarque de HolandaPresley RenatoAinda não há avaliações
- Neoliberalismo e educação no BrasilDocumento12 páginasNeoliberalismo e educação no BrasilwesulissesAinda não há avaliações
- ÁVILA, Arthur Lima De. O Fim Da História e o Fardo Da Temporalidade PDFDocumento24 páginasÁVILA, Arthur Lima De. O Fim Da História e o Fardo Da Temporalidade PDFJosé JúniorAinda não há avaliações
- História Dos Conceitos - Problemas e Desafios para Uma Releitura Da Modernidade Ibérica - Valdei L. de AraujoDocumento12 páginasHistória Dos Conceitos - Problemas e Desafios para Uma Releitura Da Modernidade Ibérica - Valdei L. de AraujoJoão Rafael S. RebouçasAinda não há avaliações
- Filho Da Escrava - MATTOSO, K.Q.Documento11 páginasFilho Da Escrava - MATTOSO, K.Q.fpinheiro76100% (1)
- Antigo Regime nos TrópicosDocumento6 páginasAntigo Regime nos TrópicosCínthia FerreiraAinda não há avaliações
- O imaginário social dos séculos XVIII-XIX através da percepção olfativaDocumento4 páginasO imaginário social dos séculos XVIII-XIX através da percepção olfativaCleyson Pinheiro BezerraAinda não há avaliações
- A Prática Dos Castigos e Prêmios Na Escola Primária Do Século XIXDocumento15 páginasA Prática Dos Castigos e Prêmios Na Escola Primária Do Século XIXpedro pimentaAinda não há avaliações
- Modernismo e A Questão Nacional PDFDocumento4 páginasModernismo e A Questão Nacional PDFAriany Ribeiro AmorimAinda não há avaliações
- ARTIGO - Mario Brum - Historia Local Na Sala de Aula Trabalhada Com Diferentes GeraçõesDocumento21 páginasARTIGO - Mario Brum - Historia Local Na Sala de Aula Trabalhada Com Diferentes GeraçõesFelipe RibeiroAinda não há avaliações
- E Sônia Maria Dos Santos MarquesDocumento404 páginasE Sônia Maria Dos Santos MarquesAirsonAinda não há avaliações
- Incorporação dos trabalhadores urbanos à política brasileira (1945-1964Documento23 páginasIncorporação dos trabalhadores urbanos à política brasileira (1945-1964Márcio PereiraAinda não há avaliações
- Gantois - Redes Sociais e Etnografia Sec 19Documento58 páginasGantois - Redes Sociais e Etnografia Sec 19Marcus Franco100% (1)
- Furtado, Junia Ferreira. Novas Tendencias Da Historiografia Sobre Minas Gerais No Periodo Colonial PDFDocumento47 páginasFurtado, Junia Ferreira. Novas Tendencias Da Historiografia Sobre Minas Gerais No Periodo Colonial PDFRafael CamposAinda não há avaliações
- Rihgb2019numero0480 PDFDocumento298 páginasRihgb2019numero0480 PDFLindervalMonteiro100% (1)
- História sai do armário: a emergência dos estudos sobre homossexualidades na historiografia brasileiraDocumento20 páginasHistória sai do armário: a emergência dos estudos sobre homossexualidades na historiografia brasileiraJosé JúniorAinda não há avaliações
- Helida PDFDocumento418 páginasHelida PDFRafael Barros100% (1)
- Cotidiano na seca de 1932Documento132 páginasCotidiano na seca de 1932CharlaBrito76100% (1)
- Artigo Francis Albert CottaDocumento19 páginasArtigo Francis Albert Cottatchitcho0138Ainda não há avaliações
- Formação social do BrasilDocumento15 páginasFormação social do Brasilwendel BulandeiraAinda não há avaliações
- Daminana Da Cunha: Uma Índia Entre A "Sombra Da Cruz" e Os Caiapós Do Sertão (Goiás, 1780-1831)Documento171 páginasDaminana Da Cunha: Uma Índia Entre A "Sombra Da Cruz" e Os Caiapós Do Sertão (Goiás, 1780-1831)Paulo Brito Do Prado100% (1)
- Guerra do Paraguai e formação do exército brasileiroDocumento105 páginasGuerra do Paraguai e formação do exército brasileiroMarcelo S GonçalvesAinda não há avaliações
- Palmares e as autoridades coloniais: dimensões políticas de uma negociação de pazDocumento20 páginasPalmares e as autoridades coloniais: dimensões políticas de uma negociação de pazAna Flavia RamosAinda não há avaliações
- Artigo Ensino de Historia DigitalDocumento25 páginasArtigo Ensino de Historia Digitalguspontes74Ainda não há avaliações
- Escrita Do Folclore em Goias Monica Martins Da SilvaDocumento0 páginaEscrita Do Folclore em Goias Monica Martins Da SilvaPaulo Brito Do PradoAinda não há avaliações
- Teoria da História e Autores ContemporâneosDocumento4 páginasTeoria da História e Autores ContemporâneosJosé VasconcelosAinda não há avaliações
- 02 Gisalio Cerqueira FilhoDocumento14 páginas02 Gisalio Cerqueira FilhoVerena SeelaenderAinda não há avaliações
- Book Review - Religião Como TraduçãoDocumento4 páginasBook Review - Religião Como TraduçãoJoão Azevedo FernandesAinda não há avaliações
- A Contribuição de Edward Thompson para o Conceito de Classe SocialDocumento11 páginasA Contribuição de Edward Thompson para o Conceito de Classe SocialAlex DanciniAinda não há avaliações
- Relativismo Cultural e UniversalismoDocumento2 páginasRelativismo Cultural e UniversalismoDaniel Bueno AmorimAinda não há avaliações
- Segurança Pública Auto-SustentávelDocumento6 páginasSegurança Pública Auto-SustentávelGabriella D'EliaAinda não há avaliações
- Moderados, Exaltados e Caramurus EVARISTO DA VEIGADocumento19 páginasModerados, Exaltados e Caramurus EVARISTO DA VEIGAMarco Aurelio CaroneAinda não há avaliações
- Crítica à proposta de BNCC para HistóriaDocumento8 páginasCrítica à proposta de BNCC para HistóriaSandro NandolphoAinda não há avaliações
- Wright Mills As Causas Da Proxima Guerra MundialDocumento93 páginasWright Mills As Causas Da Proxima Guerra MundialcogumeloheadAinda não há avaliações
- Reflexões sobre o consumo das classes popularesDocumento22 páginasReflexões sobre o consumo das classes popularesAna RodriguesAinda não há avaliações
- AULA 02 e 03: Fundamentos Éticos Código de Ética 1993 Lei de Regulamentação Projeto Ético-PolíticoDocumento51 páginasAULA 02 e 03: Fundamentos Éticos Código de Ética 1993 Lei de Regulamentação Projeto Ético-PolíticoJoyceIrisAinda não há avaliações
- FundamentosDocumento754 páginasFundamentosJoyceIrisAinda não há avaliações
- FundamentosDocumento754 páginasFundamentosJoyceIrisAinda não há avaliações
- Biblioteca Basica Do Serviço Social Volume 3 Curso de Direito Do Serviço Social-Carlos Simões 3 EdiçãoDocumento283 páginasBiblioteca Basica Do Serviço Social Volume 3 Curso de Direito Do Serviço Social-Carlos Simões 3 EdiçãoJoyceIrisAinda não há avaliações
- Ética e Serviço Social No CapitalismoDocumento12 páginasÉtica e Serviço Social No CapitalismoJoyceIrisAinda não há avaliações
- Processo seletivo residências áreas saúde 2019Documento16 páginasProcesso seletivo residências áreas saúde 2019JoyceIrisAinda não há avaliações
- FundamentosDocumento754 páginasFundamentosJoyceIrisAinda não há avaliações
- Capitalismo e RapsDocumento10 páginasCapitalismo e RapsJoyceIrisAinda não há avaliações
- Raízes Do BrasilDocumento55 páginasRaízes Do BrasilJoyceIrisAinda não há avaliações
- Fundamentos Históricos e Teóricos do Serviço SocialDocumento205 páginasFundamentos Históricos e Teóricos do Serviço SocialWesley Rodrigo Rossi83% (6)
- Cartilha SUAS 2 Revisada 2014Documento68 páginasCartilha SUAS 2 Revisada 2014JoyceIrisAinda não há avaliações
- Fundamentos Históricos e Teóricos do Serviço SocialDocumento205 páginasFundamentos Históricos e Teóricos do Serviço SocialWesley Rodrigo Rossi83% (6)
- 6c Madeira Tensões Os JesuitasDocumento297 páginas6c Madeira Tensões Os JesuitasClaudemir Teixeira100% (1)
- Tempo e Espaço - Modernidade LíquidaDocumento6 páginasTempo e Espaço - Modernidade LíquidaMarco AntonioAinda não há avaliações
- Civilidade, cidadania e direitos na teoria políticaDocumento15 páginasCivilidade, cidadania e direitos na teoria políticaGuilherme VarguesAinda não há avaliações
- O desencantamento da criança entre a Renascença e o Século das LuzesDocumento26 páginasO desencantamento da criança entre a Renascença e o Século das LuzesAbgail Prado100% (1)
- Norbert Elias e a EducaçãoDocumento6 páginasNorbert Elias e a EducaçãoClaudio SouzaAinda não há avaliações
- 5 teorias sobre por que o Brasil está na merdaDocumento11 páginas5 teorias sobre por que o Brasil está na merdaRudimar PetterAinda não há avaliações
- Manual Bombeiro MirimDocumento93 páginasManual Bombeiro MirimMauricio Ervino de Carvalho Jr.100% (6)
- BOTO, Carlota - A Racionalidade Escolar e o Processo CivilizadorDocumento38 páginasBOTO, Carlota - A Racionalidade Escolar e o Processo CivilizadorKarla KarolineAinda não há avaliações
- 1 Ano Unidade II PDFDocumento14 páginas1 Ano Unidade II PDFjuinor gomesAinda não há avaliações
- Teste ANPAD - Exemplos de Questões de PortuguêsDocumento2 páginasTeste ANPAD - Exemplos de Questões de PortuguêsgmeiraAinda não há avaliações
- Lei 443/1981 estabelece estatuto PMs RJDocumento47 páginasLei 443/1981 estabelece estatuto PMs RJJoubert ViannaAinda não há avaliações
- Código de Ética Militar MGDocumento6 páginasCódigo de Ética Militar MGCamiloZiggyAinda não há avaliações
- De PuerisDocumento5 páginasDe PuerissergioefisicaAinda não há avaliações
- História do rostoDocumento17 páginasHistória do rostoClaudio Solano100% (3)
- Bombeiro MirimDocumento76 páginasBombeiro MirimRenato Santos100% (1)
- Ética - Todas QuestõesDocumento15 páginasÉtica - Todas QuestõesAntônio LoureiroAinda não há avaliações
- Raízes Do Brasil - ResenhaDocumento19 páginasRaízes Do Brasil - ResenhaJoyceIris100% (2)
- Princípio da camaradagem militarDocumento4 páginasPrincípio da camaradagem militarJulio LopesAinda não há avaliações
- Código Disciplinar Dos Policiais Militares de Pernanbuco Lei 11.817 de 24 de Julho de 2000, CdmepDocumento21 páginasCódigo Disciplinar Dos Policiais Militares de Pernanbuco Lei 11.817 de 24 de Julho de 2000, CdmepDiêgo Nascimento Da SilvaAinda não há avaliações
- A Gramática Do Comportamento - A Fabricação Do Feminino Nos Manuais de Etiqueta de Marcelino de Carvalho.Documento25 páginasA Gramática Do Comportamento - A Fabricação Do Feminino Nos Manuais de Etiqueta de Marcelino de Carvalho.João Muniz JuniorAinda não há avaliações
- Raízes do Brasil e o familismo amoralDocumento16 páginasRaízes do Brasil e o familismo amoralPecas TataAinda não há avaliações
- Filosofia Política Contemporânea Atílio BoronDocumento405 páginasFilosofia Política Contemporânea Atílio BoronRicardoPRCAinda não há avaliações