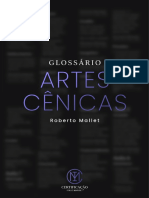Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Rubrica Como Literatura Da Teatralidade
A Rubrica Como Literatura Da Teatralidade
Enviado por
Leonardo FrançaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Rubrica Como Literatura Da Teatralidade
A Rubrica Como Literatura Da Teatralidade
Enviado por
Leonardo FrançaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A rubrica como literatura da teatralidade: modelos textuais e poticas da cena
rubrica como literatura da teatralidade:
modelos textuais & poticas da cena
L uiz Fernando Ramos
rubrica projeta, no plano literrio, uma
certa materialidade cnica. um territrio
privilegiado de convvio entre duas dimenses do fenmeno teatral em princpio incomunicveis: a cena imaginria, virtual,
projetada pelo autor, e a cena concreta, matria
tridimensional que ocupar espao fsico e desenvolver-se- temporalmente diante de espectadores em um espetculo. Mesmo reconhecendo-se que esta interseco improvvel,
procura-se aqui explorar o potencial do texto
didasclico como literatura que faz do espetculo, ao mesmo tempo, seu tema e sua finalidade, e que reflete a autoria de poticas cnicas especficas. Ser a, nessa narrativa dos aspectos
materiais do espetculo, que se encontrar a verso mais aproximada de uma cena imaginada.
O modo de encenar de cada autor repercutir
neste texto cristalizando-se como literatura. Uma
literatura muito peculiar, que remete a um espetculo ausente e inalcanvel, mas que pode,
idealmente, vir a participar dele.
Este entendimento da rubrica como um
modelo textual especfico, capaz de informar
sobre a teatralidade intrnseca do texto dramtico, contorna uma srie de objees que os estudiosos de teatro tm feito considerao das
didasclias como pertinentes na anlise teatral.
O que se pretende aqui contra-argumentar em
favor da hiptese de que o exame das rubricas
revela um modelo textual no qual se reflete um
estilo pessoal de lidar com a materialidade cnica. A inteno , tomando como exemplo um
autor latino-americano, o encenador e dramaturgo brasileiro Jos Celso Martinez Correa,
comparar a forma como ele rubrica seus textos
com a utilizada por um autor europeu como
Samuel Beckett.
Jos Celso, na pea Cacilda!, dialoga diretamente com Beckett no nvel temtico e dramtico. Mas quando se comparam as textualidades didasclicas dos dois autores revelam-se
marcas pessoais e intransferveis de cada um, e
caractersticas mpares de suas respectivas teatralidades. Antes, porm, de detalhar as didasclicas de Beckett e de Jos Celso ser importante situar histrica e conceitulmente a
rubrica como um modelo textual, avaliando-a
como parte independente da literatura dramtica e explicitando uma hiptese que justifique,
contra as restries mencionadas, sua eficcia
como ndice confivel na anlise teatral, ou,
mais especificamente, na anlise da dramaturgia
contempornea.
Luiz Fernando Ramos professor do Departamento de Artes Cnicas da ECA-USP, dramaturgo e
encenador.
sala preta
A rubrica como ndice
do espetculo?
A rubrica, ou didasclia, como a conhecemos
hoje, uma forma de textualidade literria muito recente. Na idade mdia, surge nos textos
dramticos religiosos apresentando os aspectos
materiais e simblicos do rito, e, na Renascena, j aparece exercendo a funo de indicar aos
operadores da montagem aspectos funcionais da
sua articulao, como o momento exato das entradas e sadas, a lista de personagens e, principalmente, a distribuio das falas entre eles. No
final do sculo XIX a rubrica consolidou-se como
elemento inseparvel do texto dramtico, mas
s em meados do sculo XX desenvolveram-se
abordagens tericas sobre suas especificidades.
Roman Ingarden definiu as didasclias
como secundrias, por serem textos cujo destino era desaparecer na realizao do espetculo, frente aos dilogos que seriam primrios,
por serem pronunciados na encenao (Ingarden, p. 71). Eli Rozik reavaliou recentemente
aquela contribuio luz da atual, e hegemnica, perspectiva semitica na anlise do teatro
(Rozik, p. 91). Segundo ele, a matria que estaria em exame o teatro como linguagem no
inclui entre as suas partes as didasclias, pois esta
linguagem s existe enquanto espetculo.
Nessa medida, se fosse possvel estabelecer as
funes da linguagem no teatro, como Ingarden quis, elas no incluiriam as rubricas. Rozik
critica a hiptese de Ingarden quanto s rubricas serem transformadas, com o espetculo, em
um outro meio de representao que as substitui. Seria esta condio mutante das rubricas,
de quando encenadas deixarem de ser verbais,
que as tornaria secundrias, enquanto os dilogos, no espetculo, no seriam transformados.
Rozik nega esta dicotomia entre verbal e noverbal e defende a viso de que a linguagem do
teatro envolve um mtodo unitrio e no verbal de representao icnica. Ele no quer banir a palavra, mas apenas enfatizar o aspecto no
verbal da linguagem do teatro. Por isso as didasclias no tm funo na linguagem teatral.
10
Michael Issacharoff distinguiu-se por valorizar a didasclia dentro de uma perspectiva
semitica da literatura dramtica (Issacharoff, p.
93). Ele defende que o texto escrito o nico
elemento constante no que acontece em nome
do teatro e que a rubrica ser sempre vital na
eventualidade de uma encenao imaginria
desta dramaturgia. De acordo com Issacharoff,
o texto dramtico estereofnico, desde que
tem dois canais: o destinado a ser dito pelos atores (os dilogos), que participa da fico; e aquele que expressa a voz do dramaturgo endereada
aos operadores da montagem (as rubricas) e que
pode correr paralelo fico. A rubrica seria o
que ele chama de componente no ficcional do
drama e aquilo que definiria a sua especificidade
como literatura. Nenhum outro gnero literrio possuiria este estatuto excepcional, de comportar um canal suplementar que serve de manual de uso.
Esta idia de um duplo canal ou de uma
dupla enunciao j tinha sido formulada por
Anne Ubersfeld (Ubersfeld, p. 77). Ela apontou a rubrica como espao de enunciao imediata do autor, enquanto no dilogo h a mediao do personagem entre o autor e o espectador. Mesmo reconhecendo que as rubricas so
portadoras deste discurso sem sujeito, Ubersfeld as v como meras partes acessrias do texto
teatral, podendo ser reduzidas a quase nada
numa encenao efetiva. Talvez por isso, Ubersfeld no se preocupe em analisar as rubricas e
concorde com a classificao de Ingarden quanto ao seu carter secundrio. Para Ubersfeld,
mesmo revelando a teatralidade de um texto
dramtico, elas no alcanam o status de serem
lidas como os dilogos, funcionando apenas
como complementares a eles (Ubersfeld, p. 83).
Patrice Pavis concorda com Ubersfeld e
interpreta a posio de Issacharoff como influenciada pela Speech Act Theory e fundada na diferenciao estabelecida por Searle entre falas
srias, que tm efeitos concretos sobre seus destinatrios, e as falas ficcionais, que afetam apenas
s personagens (Pavis, p. 92). Mesmo reconhecendo a contribuio deste enfoque para dife-
A rubrica como literatura da teatralidade: modelos textuais e poticas da cena
renciar a literatura da linguagem ordinria, Pavis
v nesta dicotomia entre o real e o ficcional um
resduo metafsico. Ele se pergunta se seria possvel separar, seja na literatura dramtica, seja no
espetculo, as referncias ficcionais das srias.
Ao contrrio, prope um enfoque que torne a
dimenso ficcional o mnimo denominador comum entre dramaturgia e espetculo.
Marvin Carlson tambm rebateu as posies de Issacharoff (Carlson, p. 90). Como Pavis, ele identificou a raiz do raciocnio de Issacharoff na Speech Act Theory de Searle, mas foi
mais longe ao apontar que a rubrica, mesmo
existindo parte do dilogo ficcional, poderia
ser lida apropriadamente como integrante da
fico da pea. Nesse sentido criticou o fato de
Issacharoff tratar a diviso entre os modos
diegtico (narrativo) e mimtico (dramtico) de
um ponto de vista estritamente verbal. Ou seja,
no caso das rubricas, o fato delas no resultarem em falas no espetculo no as livraria de
participarem do modo diegtico. Carlson lembra o exemplo de Ato Sem Palavras I, de Beckett
citado por Issacharoff para defender a idia
de que, como no h texto falado, prevalece o
modo mimtico e inexiste narrativa , para provar exatamente o oposto. Carlson rejeita completamente a idia de uma encenao virtual ou
da possibilidade de um discurso sobre o espetculo a partir das rubricas.
Admitir que uma anlise atravs das rubricas seja estritamente literria excluiria a possibilidade de relao entre aquele texto, que trata
de uma cena futura, ou passada, e a cena concreta qual corresponder a sua efetiva realizao? Seria possvel assegurar que, em nenhuma
hiptese, o texto didasclico remeter ao espetculo que projeta? Jean Alter acredita que sim.
Abordando a questo pelo prisma da literatura,
ele descarta a rubrica como assunto que deveria
ser evitado pelo discurso crtico (Alter, p. 90).
Para ele, a idia do espetculo virtual, ou da encenao imaginria, no oferece um referente
estvel para que se possa discutir sobre ele. A
projeo pelo operador desta virtualidade de
uma cena concreta to complexa, envolvendo
tantas variantes, que se torna arbitrria, numa
espcie de visualizao to subjetiva quanto o
sonho. Esse espetculo virtual no tem um referente externo que permita um consenso a respeito de sua existncia. Para Alter o discurso crtico deveria restringir-se aos referentes literrios
entenda-se a histria, pois o referente teatral tornar-se-ia necessariamente literrio quando fosse formulado por escrito. A nica maneira de se discutir um texto dramtico seria, ento, assumindo essa condio literria, evitar a
virtualidade incerta e ater-se aos limites da fico, possveis de serem compartilhados para
alm de divagaes subjetivas.
Em primeiro lugar, discutvel a idia de
que a rubrica esteja, inexoravelmente, prisioneira de uma fico literria. verdade que a rubrica, em geral, s existe enquanto literatura, a
forma literria sua condio de existncia. Por
outro lado, no exatamente verdadeiro que
esta forma literria expresse, necessariamente,
uma fico ou histria, qual os operadores
da rubrica teriam que se remeter para garantir
uma interpretao consistente dos referentes
apresentados. Alm da fico, a quem inegavelmente servem e muitas vezes se submetem,
as rubricas referem-se ainda a uma outra dimenso, no literria, que a da materialidade e do
corpo tridimensional do cnico. Enquanto antecipao imaginria de uma futura cena concreta, tm uma relativa independncia da fico, ou da histria que haja para contar.
incorreto, portanto, reduzir as rubricas, necessariamente, a meros suportes da fico literria
e deixar de reconhecer esta outra dimenso, de
uma narrativa relativa ao cnico, que no tem a
princpio nenhuma subordinao histria que
a fico literria quer contar e se constitui como
uma esfera independente. Na verdade, em casos limites como o da dramaturgia de Beckett,
onde o prprio desenvolvimento da fico est
abalado, nem dilogos nem rubricas esto, exatamente, a servio de uma histria. Assim, para
montar Esperando Godot no preciso definir
uma histria que articular falas e rubricas debaixo de um referente estvel. Como no h,
11
sala preta
com certeza, uma histria, ou a que existe uma
histria incerta, o que se pode fazer lanar mo
dos indicadores espao-temporais das rubricas
para auxiliar nesse desenvolvimento. O recurso
histria, que seria adotado por um leitor que
lesse o texto querendo encontrar um sentido,
seria dispensado por quem se preocupasse, exclusivamente, com os aspectos materiais de uma
montagem tais como tornar compatveis os
momentos de entradas e sadas do espao cnico com o nmero de personagens previstos e o
de atores disponveis. No caso deste hipottico
encenador pouco sofisticado, o que realmente
no importaria seria o contedo das falas ou da
histria que Beckett estivesse, por ventura, querendo contar.
Este exemplo demonstra, de maneira clara, o que se est querendo dizer com esfera independente, que lida com a materialidade da
cena. Sugere tambm uma contraposio ao raciocnio de Alter. Ele sustenta que Esperando
Godot uma pea muito teatral, que teve sempre encenaes mais ou menos semelhantes,
graas fora da fico, que teria compensado a
generalidade das rubricas (Alter, p. 87). Na verdade, parece exatamente o contrrio, j que,
como ser demonstrado, as rubricas em Beckett
tm uma preciso e uma condio de dispositivos essenciais articulao cnica da pea. Assim, as montagens de Esperando Godot so muito semelhantes, no porque na ausncia de
referentes cnicos consistentes os encenadores
tivessem que se remeter fico literria, mas
porque Beckett construiu o texto para funcionar em cena como um mecanismo preciso, criando atravs das rubricas travas de segurana
que evitassem alteraes substanciais na materialidade cnica por ele proposta. Em vez de seguir a histria para dar conta da cena, os encenadores de Esperando Godot seguiram as rubricas
e com isso encontraram um porto estvel para
contar alguma histria. As rubricas, de fato, so
uma referncia mais concreta que qualquer histria a ser deduzida pelos eventuais leitores da
pea como literatura. Elas inscrevem no plano
literrio a dimenso fsica e tridimensional da
12
cena e, assim, no s articulam a encenao no
plano imaginrio, como garantem a sua consistncia enquanto fico.
A questo que se coloca aqui , pois, introduzir nesse debate terico a perspectiva da
rubrica como indicadora de uma certa materialidade cnica e como reflexo de uma potica
especfica. Acredita-se que as rubricas refletem
uma primeira encenao virtual do autor que
expressa aproximadamente sua viso da cena
montada. Admite-se que muitas outras encenaes virtuais do prprio autor e de todos os seus
leitores sero ainda possveis, e que algumas outras leituras, mais pragmticas, de diretores, atores, e de todo o tipo de artesos que influem
numa produo, resultaro em espetculos concretos diferenciados. Reconhece-se, tambm,
que a cena revelada a cada tentativa de leitura
ser sempre subjetiva, ou pertinente apenas a
cada um que se permita o devaneio de encenar
um espetculo com a prpria imaginao e que,
numa espcie de hipertrofia referencial, tornarse- impossvel delinear uma verso definitiva
dessa cena potencial. Cada leitura corresponder
a um espetculo diferente e, mais crucial, pressupor sempre um relato numa forma literria
e j distanciada do espetculo em si.
Foram, exatamente, essas dificuldades de
se estabelecer um discurso comum a partir da
leitura das rubricas que provocaram o desinteresse pelo estudo do texto didasclico. inegvel, no entanto, que, quando se trata de explorar imaginariamente a materialidade projetada
por quem construiu uma obra dramatrgica, as
rubricas podem ser muito teis. No importa
se sero obedecidas risca ou simplesmente
relegadas, se sero lidas como receita de bolo ou
ignoradas como bula de remdio incompreensvel. Enquanto registro estvel daquela primeira encenao imaginria, as rubricas oferecero
ao pesquisador um ponto privilegiado de observao. Sero tanto o ltimo vestgio de uma
encenao passada (real ou imaginria), quanto
a raiz potencial de todas as encenaes futuras.
Mesmo referindo-se a algo que no existe ainda, ou que j no existe mais um espetculo
A rubrica como literatura da teatralidade: modelos textuais e poticas da cena
efetivo , refletiro potencialmente, como narrativa literria, a cena desejada pelo seu autor.
Essa perspectiva de anlise confirma-se na
dramaturgia de Samuel Beckett quando se enfatiza o papel das rubricas na construo de seu
teatro. As didasclias refletem, muito mais do
que os dilogos que amalgamam, o projeto
teatral daquele autor e seus procedimentos especficos no que diz respeito materialidade
cnica. Se verdade que Beckett, de algum modo, fundou uma teatralidade especfica, essa
potica cnica transparece verdadeiramente em
suas rubricas. Elas so um espelho da evoluo
do escritor da condio de dramaturgo de
encenador, e da integrao dessas duas funes
no seu exerccio como autor de uma linguagem
cnica prpria (Pountney, p. 88).
Ser partindo desta evidncia em Beckett
que se apresentar, tambm, a dramaturgia de
Jos Celso Martinez Correa, cuja textualidade
didasclica reflete uma potica da cena muito
particular. No caso de Jos Celso, o movimento
inverso ao de Beckett, no sentido de que ele
um encenador que se faz dramaturgo, e que,
diante da necessidade de construir seu espetculo desde o texto, faz da narrativa de cenas visualizadas subjetivamente um de seus principais
instrumentos. Alm disso, Jos Celso escreve de
um ponto de vista latino-americano, terceiromundista, de colonizado que constri sua literatura dramtica a partir da devorao da dramaturgia do colonizador. E ele no devora
apenas uma dramaturgia. Jos Celso absorve criticamente, tambm, toda uma esttica cnica
europia e norte-americana que tomou conta do
teatro brasileiro durante os anos oitenta, dcada em que ele esteve parado, concentrado em
fazer cinema. Ao escrever Cacilda!, processa o
Beckett dramaturgo, de quem empresta dilogos inteiros, mas intui tambm o Beckett encenador, latente nas rubricas do autor irlands.
A textualidade didasclica
em Beckett
Desde Eleuthria, a primeira pea, at Catastrophe, uma das ltimas, a dramaturgia de Beckett
um constante desvendar dos mecanismos de
apresentao dramtica. As personagens so reveladas enquanto partes de uma engrenagem e
suas aes, se alguma finalidade possuem, a
de cumprir este desvendamento. como se suas
peas, e os espetculos decorrentes, funcionassem como um relgio invertido, que em vez de
mostrar a face com as horas e os ponteiros que
as indicam, revelasse suas costas, cheias de pequenas engrenagens articuladas. Ao invs das
horas indicadas, esto expostos, na sua insignificncia, os mecanismos que as engendram. A
hiptese aqui que nesta inverso que cria
uma identidade e permite falar num estilo beckettiano, ou num novo paradigma de teatralidade a rubrica desempenha um papel crucial.
Ela no s articula e opera este mecanismo que
se revela, como fixa esta inverso, garante-a e
torna-a perene. Na verdade, em Beckett a rubrica ser to importante na leitura que o espectador venha a fazer do espetculo, se ali ela
for concretizada, quanto naquela feita por quem
a l como literatura dramtica, nas pginas do
livro. Ela estabelece uma ocupao fsica do palco que no pode ser desconsiderada pelo eventual operador daquelas instrues, sob pena de
perder-se totalmente a consistncia da fico
proposta.
O controle sobre a transformao das indicaes cnicas em cena efetiva tal, que no
obedec-las equivale a modificar ou omitir as
falas das personagens. Como j acontece no plano literrio em geral, onde a rubrica , incontestavelmente, indispensvel para articular a fico, em Beckett ela ser tambm imprescindvel
na formalizao cnica dessa fico. Quando,
por exemplo, a direo do movimento das personagens no palco apontada na rubrica, implica num desenho previsto pelo autor, que remete a uma situao concreta, a presena fsica
e significante das personagens indo nesta ou
13
sala preta
naquela direo. Se na maior parte dos autores
uma indicao como esta a direo na qual
uma personagem se movimenta , de fato, secundria, em Beckett ela ser vital. Mesmo com
uma infinita variedade de modos de se executla, no cumpri-la no s trair o autor como
alterar completamente o curso da ao dramtica:Estragon Allons-y (Ils ne bougent pas)
(Beckett, 1952, p. 52).
Os movimentos de Estragon e Vladimir,
principalmente os deles, so aes que, mesmo
podendo variar muito de montagem para montagem e dependendo dos atores que as fizerem,
tm um contorno mnimo e indicam aes fundamentais para que se consume o arco de ao
desenhado pelo dramaturgo. Em meio a um deserto de referncias torna-se natural que as aes
fsicas realizadas por Vladimir e Estragon sejam
vitais para que o drama avance e possa levar a
cabo a sua insolubilidade.
A partir de Esperando Godot, a ambigidade e a indeterminao dos temas e tramas s
aumentou, ao mesmo tempo em que as aes
fsicas e as rubricas que as descrevem foram se
tornando cada vez mais exatas. Isto comea a
ficar mesmo claro na pea escrita logo depois
de Dias Felizes, no final de 1962, chamada Play.
Ela marca j no nome, que sugere um teatro
substantivo, concreto, mas tambm, e principalmente, no tratamento da luz o incio de uma
nova fase de Beckett na sua experimentao com
o espao cnico. Em Play, Beckett decide transformar a luz num elemento contracenador to
ou mais significativo que as falas. As personagens, cabeas sadas de urnas numa variao
do tema da supresso do corpo de Dias Felizes
dependem crucialmente do foco de um refletor
para existirem, como presenas fsicas e como
falas. a luz que as autoriza a falar e que as suprime. Ao longo da pea, oito blackouts criam
intervalos de cinco segundos que secionam a
pea em partes ou mecanismos independentes.
Toda esta coordenao de aparies e desaparies operada atravs das rubricas que, em
Play, tornam-se, definitivamente, o eixo da dramaturgia deste encenador potencial. Beckett
14
muito claro em todas as instrues que oferece
em vrios nveis didasclicos. A rubrica inicial
apresenta as informaes bsicas sobre o cenrio, as luzes, e a forma como so introduzidas
as falas iniciais e simultneas das trs personagens-urnas w1, w2 e w3. As rubricas internas
s falas vo determinando a direo dos refletores e, nessa medida, definindo a sintaxe do discurso verbal. Finalmente, h as notas independentes, que lembrando as notas explicativas
de Eleutheria exerccios precursores dessa escritura de cenas , proporcionam esclarecimentos adicionais. Trs delas, as referentes s urnas,
luz e ao coro do incio da pea, so remissivas
rubrica inicial. A quarta nota explicativa excedente refere-se solicitada repetio ao final do
texto.
The repeat may be an exact replica of first
statement or it may present an element of
variation. In other words, the light may
operate the second time exactly as it did the
first (exact replica) or it may try a different
method (variation). The London production
(and in a lesser degree the Paris production)
opted for the variation with following
deviations from first statement (Beckett,
1990, p. 90).
Segue-se a enumerao detalhada das modificaes da produo londrina, em que se destaca a
especificao da intensidade da luz em oito momentos particulares. Esta nota explicativa de
Play revela um Beckett encenador emergente,
que escreve depois da produo, analisando a
alternativa adotada e incorporando esta contribuio ao texto original. Ao mesmo tempo, ainda resta uma hesitao do dramaturgo quanto
s potenciais revises que outros encenadores
faro, o que o obriga, alm de indicar a repetio no meio da ltima apario do coro, em
detalh-la nesta nota. Beckett talvez imaginasse
que havia uma grande margem de variao o
que o fez considerar mesmo a referncia da produo de estria, em Londres, como uma possibilidade entre tantas. Por outro lado, o controle que exerce atravs das rubricas sobre o ritmo
A rubrica como literatura da teatralidade: modelos textuais e poticas da cena
e andamento quase total, no havendo muita
margem de variao no que diz a respeito luz
e a que fala ela deve iluminar, ou das quais deve
se ausentar. Mais do que isso no importava
mais a compreenso do que era dito pelas cabeas nas urnas. Beckett insistiu, a contragosto dos
atores e produtores, que eles falassem rpido a
ponto de se tornarem incompreensveis, suas
falas articulando apenas sons e ritmo.
Um ltimo exemplo que vale mencionar
Catastrophe. Includa entre as peas da fase final do dramaturgo, ela parece concluir o ciclo
iniciado com Eleuthria. Alm do nome, derivado do grego, Catastrophe tem tambm em
comum com a primeira pea de Beckett ter sido
escrita em francs, e ter como tema explcito a
criao teatral. As diferenas tambm so expressivas, na medida em que revelam as mudanas que trinta e cinco anos de prtica no teatro
lhe proporcionaram. A esta altura Beckett j tinha uma conscincia aguda, quando escrevia
uma cena, que cada movimento dos atores, tanto quanto suas falas, precisavam ser muito bem
indicados a fim de efetivar-se o espetculo pretendido. Nesse sentido, se as rubricas em Eleuthria tinham uma certa flexibilidade, em Catastrophe elas so quase exatas, revelando-se imprescindveis no s compreenso da trama,
mas prpria efetivao do espetculo. Desde a
rubrica inicial, comprova-se a implicao inevitvel entre dilogo e rubrica consolidada como
marca da dramaturgia de Beckett.
Rehearsal. Final touches to the last scene.
Bare stage. A and L have just set the lighting.
D has just arrived. D in an armchair
downstair audience left. Fur coat. Fur toque
to match. Age and physique unimportant. A
standing beside him. White overall. Bare
head. Pencil on ear. Age and physique
unimportant. P midstage standing on a black
block 18 inches high. Black wide-brimmed
hat. Black dressing-gown to ankles. Barefoot.
Head bowed. Hands in pockets. Age and
physique unimportant. D and A contemplate
P. Long pause (Beckett, 1986, p. 90).
O diretor ocupado em dar os ltimos retoques
na montagem uma personagem diversa das
personagens de Eleuthria, que mesmo envolvidas num processo cnico (o ponto, o membro
do pblico) esto ainda submersas na fico sobre o triste destino de Victor Krap o jovem
que desistiu de agir. A personagem diretor de
Catastrophe fria e calculista e esculpe uma
cena, um tableau. Ela est distante do plano
ficcional, ou de qualquer coisa que transcenda
a materialidade da cena que constri. No h
nenhuma angstia com exceo da que caracterstica de sua assistente em montar uma
cena em que a personagem no faz nada e nem
mostra a face. A personagem P um filho de
Victor Krap que, em vez de ser instado a fazer
alguma coisa, v-se-lhe imposta a tortura da
imobilidade e da inao. Ele desenhado como
elemento de um quadro do diretor, que quer
expressar algo A est nossa catstrofe mas
em si mesmo, enquanto personagem, inexpressivo. No chega nem a ser a representao
de um mecanismo do teatro, como as personagens de Eleuthria. , apenas, um suporte para
o discurso cnico do diretor. Da mesma maneira que em sua primeira pea Beckett fazia uma
espcie de acerto de contas com a tradio
dramatrgica, em Catastrophe ele est acertando contas com a tradio do encenador moderno como voz dominante no teatro. Est tambm acertando os ponteiros com sua prpria
condio de diretor, constituda j, nesse momento, h quinze anos. Neste contexto, a rubrica sofisticou-se como instrumento de controle
e operao, j que ele passou a escrever pensando na encenao, sem intermedirios. Atravs dela l-se no s o comentrio distanciado
do autor sobre a trama, como se revela um reconhecimento que define esta trama.
Pause. Distant storm of applause. P raises
his head, fixes the audience. The applause
falters, dies. Long pause. Fade-out of light on
face.
Catastrophe comenta tambm, ironicamente,
a perspectiva inglria da didasclia no teatro
15
sala preta
quando insiste sete vezes com a rubrica apanha um bloquinho, apanha uma caneta e toma
nota sempre seguida da fala tomarei nota.
O caderno de anotaes do diretor, no caso deste diretor, escrito pela assistente. Sntese de secretria e contra-regra, ela submete-se tirania
do encenador que dita as especificaes da cena,
para que ela as transforme em texto didasclico.
Outra rubrica meio perdida. Irritadamente
repete-se quatro vezes durante a pea, sempre
que, depois de uma orientao de D sobre o que
deveria ser modificado em P, A remete-se a P
sem muita pacincia. Estas constantes rubricas
idnticas que, se considerarmos as indicaes de
pausa, j apareciam em profuso nas primeiras
peas, s confirmam que para Beckett a rubrica, tanto quanto o texto dialogado, possui uma
importncia estrutural na forma dramtica que
ele constri.
Para concluir essas observaes sobre a
rubrica na dramaturgia de Beckett vale ainda
enfatizar o processo de transformao do dramaturgo em encenador, tanto frente tradio
dramtica que o antecede, quanto s tendncias contemporneas do teatro que o sucedem. O
teatro de Beckett sugere uma ruptura com o
paradigma da representao dramtica realista.
Segundo Aristteles, a arte do poeta dramtico
relativa a uma tekn especfica, diferente da
tekn relativa arte do cengrafo ou do fazedor
de mscaras (Haliwell, p. 87). Beckett realiza,
em sua prtica criativa como autor dramtico,
uma inverso em termos da tekn habitualmente atribuda ao dramaturgo constituir primordialmente uma trama aproximando-a da tekn
identificada com as atribuies do fazedor de
mscaras cuidar da visualidade e dos elementos externos trama, entre os quais o menos
importante, o espetculo. Beckett escreve j de
um ponto de vista novo, o do fazedor de mscaras, mas utiliza ainda os instrumentos do dramaturgo tradicional, as palavras. Ao contrrio
das correntes simbolistas que no incio do sculo, atravs, por exemplo, de Gordon Craig, propuseram um teatro como arte autnoma, com
leis prprias na constituio de sua materia-
16
lidade, e, para alcanar isto, baniram a palavra,
Beckett alcana esta mesma dimenso, alternativamente, atravs da palavra, ou de uma literatura dramtica muito especfica. Seja na forma
mais bvia, a articulao da cena pelas falas sempre acompanhadas de precisas indicaes sobre
o movimento e o ritmo dos atores no contexto
de um plano mais abrangente e visual de observao, seja nica e exclusivamente nas rubricas,
quando no existem mais falas.
Nestes casos seu teatro j no guarda nenhuma proximidade com a dimenso do logos,
atuando sobre o pblico apenas como physis,
atravs da visualidade e dos outros sentidos cuja
percepo passa longe do plano da racionalidade. Ao contrrio de Brecht, que mesmo se
pretendendo anti-aristotlico (Brecht, p. 93),
reproduz exatamente a idia aristotlica de que
o teatro s se realiza quando compreendido
racionalmente, Beckett caminha como encenador, e contando para isso com as rubricas,
para um teatro cuja realizao transcende o plano racional de compreenso e se prope como
poema espacial, enquanto gramtica dos elementos fsicos no espao cnico. certo que,
tanto quanto em sua literatura, o tema central
a dvida sobre a possibilidade de representao
da realidade. Mas a forma como se articula
como teatro, linguagem cnica, prescinde j das
articulaes lgicas e dos pressupostos de
racionalidade intrnsecos na idia do drama
clssico e se mostra como matria bruta, escultural e pictrica, que fala atravs dos movimentos, ou da paralisia total, ou ainda do silncio,
constitudos cada um destes enquanto forma
tridimensional.
Estas caractersticas do ltimo Beckett, j
abertamente um encenador, homem de teatro
completo que como seus maiores antecessores
no distingue as funes de escritor de textos
no papel e a de executor de cenas no palco o
aproximam surpreendentemente de criadores
que, primeira vista seriam alinhados bem longe dele, como o caso de Robert Wilson. O
paradigma do teatro de Wilson descentrar
completamente o teatro do eixo da fbula, in-
A rubrica como literatura da teatralidade: modelos textuais e poticas da cena
vertendo radicalmente a perspectiva aristotlica
e, mesmo quando utilizando a literatura dramtica, fazendo-o de forma no hierarquizada e
aleatria. Beckett ainda tem como principal suporte a literatura dramtica, mas o drama que
constri edifica-se na dimenso fsica do palco,
tanto quanto os espetculos de Wilson. A principal diferena est na forma de cifrar esta dimenso cnica. No caso de Wilson, um fazedor
de mscaras por excelncia, essa forma a de
croquis e desenhos, plantas e esboos que antecipam visualmente uma cena antevista e ainda
no realizada. No caso de Beckett, principalmente o ltimo Beckett, na narrativa detalhista
e minuciosa de movimentos e aes em palavras indicadoras, rubricas que descrevem uma
cena, tambm, apenas imaginada.
Cacilda!: a didasclia como
texto do encenador
Jos Celso Martinez Corra iniciou sua carreira
como dramaturgo, transformando-se, em meados dos anos 60, em um dos mais importantes
encenadores brasileiros. Depois de um longo
afastamento do teatro (1978-1985), recomeou
adaptando Bacantes de Eurpides e, prosseguindo na experincia literria, escreveu, em 1990,
Cacilda!. Hoje ele pode ser identificado como
um encenador e dramaturgo que no hierarquiza essas duas funes e as sintetiza, respondendo pelo texto dramtico e pela encenao.
Ao contrrio do que se verificou em Beckett,
no entanto, essa fuso no se reflete necessariamente em um texto cada vez mais detalhista na
determinao das aes fsicas e da materialidade cnica. No porque Jos Celso no use e
abuse das didasclias, mas porque o faz de outra maneira. Se suas rubricas incorporam algo
da preciso material indicada pelo texto da rubrica de Beckett, deixam-se contaminar pelas
suas prprias idiossincrasias pessoais, alm de
refletirem formas teatrais exclusivamente brasileiras como a dos desfiles carnavalescos.
Cacilda! foi escrita para concorrer em um
concurso de dramaturgia e valeu a Jos Celso a
vitria no certame. O processo de criao transcorreu ao longo do segundo semestre de 1990,
perodo em que o autor pesquisou documentos
sobre a vida e as realizaes artsticas de Cacilda
Becker (1921-1969), atriz brasileira clebre nos
anos 50 e 60. Alm de examinar a correspondncia de Cacilda, o autor colheu depoimentos
de familiares e amigos ntimos, cruzando informaes e selecionando fatos significativos. Ao
lado desta pesquisa biogrfica, Jos Celso reviu
tambm a trajetria da atriz do ponto de vista
das personagens que ela representou, lendo todas as peas em cujas montagens tivesse atuado,
em busca de situaes dramticas que colaborassem na narrativa. Isso fez com que a dramaturgia de autores to variados como Schiller e
Tennesse Williams reverberasse no texto, bem
como que os estilos das rubricas desses diversos
autores repercutissem nas rubricas do prprio
Jos Celso.
No caso especfico de Samuel Beckett, a
sua presena em Cacilda! marcante. Cacilda
Becker morreu a partir de um derrame, sofrido
durante uma apresentao de Esperando Godot,
em So Paulo, em 1969. A pea de Jos Celso
comea reproduzindo literalmente o dilogo de
Vladimir e Estragon no incio da pea de
Beckett. Mas, diferena da trama enigmtica
de Beckett, em Cacilda! Godot chega. Ele vem
encarnado na personagem Jovem Atriz, que representa no s o renascimento de Cacilda
Becker como do prprio teatro brasileiro, oprimido por quase vinte anos de ditadura militar
(1964-1985).
Para alm das diferenas ficcionais entre
as duas peas, interessa perceber em que medida, do ponto de vista da rubrica e da escritura
que remete materialidade cnica, Beckett se
intersecta com Jos Celso. Certamente, em ambos os casos tm-se rubricas que carregam nos
ombros a ao dramtica, e este seria um ponto
em comum. Por outro lado, em Jos Celso no
se percebe to nitidamente uma escritura como
a das rubricas de Beckett, que cada vez mais projetam uma cena, eliminando a participao dos
dilogos, ou que, mesmo quando contando
17
sala preta
com eles, controla-os ao mximo, submetendoos a uma composio que j tridimensional, e
concebida enquanto materialidade. Mas, mesmo sendo menos preciso e mais prolixo, Jos
Celso tambm carrega suas rubricas com intenes bem concretas e com cenas bem materializveis. Vrias das rubricas de Cacilda! poderiam, por exemplo, ser classificadas como topogrficas, por assinalarem o lugar onde se passaro
as cenas e delimitarem o espao fsico que estas
ocuparo. So rubricas importantes no s por
atenderem fico, mas porque guiam os operadores na construo material da cena.
O espao em que Jos Celso imagina sua
pea encenada o do teatro Oficina de So Paulo ocasio em que escreveu a pea, sendo
reformado para se transformar numa rua, ou
em um grande corredor com arquibancadas suspensas nas paredes laterais. As rubricas topogrficas definem tanto os espaos da fico como
pressupem esse novo formato do Oficina, que
lembra um sambdromo estdio construdo
especialmente para as Escolas de Samba desfilarem no carnaval brasileiro. A rubrica que descreve o Jardim de Pirassununga, espao mtico
da infncia da atriz Cacilda Becker, ilustra essa
ocupao em dois nveis: o espao fsico, estritamente, e o do espao da fico.
A casa dos pais Um retrato imenso tamanho natural do seu Iconis-Cronos, ao lado
de uma janela que d para o quartel. Numa
extremidade oposta, muitas fotos de Dona
Alzira-Rheia: A Matriz, como um altar de
uma estrela dos anos 20 da UFA. A cama o
cho, num buraco como o do ponto que ser a
caixa de Pandora. l que Cacilda vai ser
parida, vindo da terra, pras primaveras, ao
mesmo tempo que se encontra com Cacilda
entrando sendo enTERRAda. Deste lado uma
garrafa enorme de Pinga Pirassununga, hoje
51. No desenrolar do fio da intriga, essa casa
se divide como todo cenrio, sempre, na separao do casal. A parede da me ser depois o
camarim de Cacilda, e o lado do pai o trono
de Creonte, do Governador, do General. Em
pose de lbum de Famlia.
18
Uma parte importante do espao cnico foi definida tanto em termos da fico, ligando-se
lugares com situaes dramticas que iro se armar l que Cacilda vai ser parida vinda
da terra, pras primaveras, ao mesmo tempo em
que se encontra com Cacilda sendo enTERRAda , quanto em termos funcionais de ocupao do espao fsico A parede da me ser
depois o camarim de Cacilda, e o lado do pai o
trono de Creonte, do Governador, do General.
, ao mesmo tempo, uma rubrica que no prescreve com exatido milimtrica o cenrio e deixa uma grande margem de variao para o cengrafo e o diretor que forem concretiz-la. O
que a caracteriza, mais propriamente, o estabelecimento de uma correspondncia inequvoca entre alguns lugares especficos da cena projetada e os significados a eles atribudos pelo
autor. As fotos reunidas de Dona Alzira-Rhea
formam um dos campos de fora que ser acionado ao longo de toda pea de maneiras distintas, pouco importando que fotos e de que modo
constituiro este altar de estrela dos anos 20.
A Caixa de Pandora um nome a mais para o
espao do ponto, to acionado ao longo de
toda a pea , tambm assumir diversos formatos, mas estar sempre ocupando uma regio
especfica do espao cnico, que depois de definida pelos operadores, seja onde e em que circunstncias for, permanecer estvel cumprindo sua funo dramtica. Os significantes que
cada leitor imprimir sobre estes signos antecipados pelo autor vo variar e sero fludos, mas
o lugar que lhes couber no espao cnico, uma
vez que este esteja definido, ter sido instaurado de forma definitiva. As rubricas em Cacilda!,
portanto, alm de criarem o espao da fico,
deixam as caractersticas deste encenador inscreverem-se no projetado espao fsico da cena.
o caso, por exemplo, da rubrica que descreve o
mar, na chegada da personagem Cacilda, de suas
irms e de sua me, cidade Santos.
Os rochedos so elevaes de cimento. O cho
vai se cobrindo de areias que elas mesmas trazem e a gua salgada, das ondas, vir em um
A rubrica como literatura da teatralidade: modelos textuais e poticas da cena
fil verde claro, Boracia, ou cinza chumbo,
Santos real, poludo, trazido por entidades do
mar. a capa de uma Nossa Senhora que aparece de Oxum, no meio dos panos, que vo se
desdobrando em camadas de ondas azuis e
verde claro de muitos metros, tiras presas em
tyrsos, com estrelas marinhas prateadas, as
ondas mais fortes so plumas, respingos de
confetis, refletores vermelho amarelos, como
sis, papagaios, gaivotas, agitadas por contraregras neutros. Uma escola de samba que evolui em sentido de engolir as quatro personagens em suas ondas.
Por mais complexa que seja a execuo desta
rubrica, e por mais em aberto que seja o resultado concreto que um encenador obtenha dela,
no h como negar que, em si mesma, ela prope uma cena potencial cuja plasticidade intensamente potica. Enquanto literatura esta
rubrica combina momentos lricos refletores
vermelho amarelos, como sis com a habitual
descrio pragmtica das rubricas agitadas por
contra-regras neutros. Como possvel espetculo, deixa antever a utilizao de materiais simples, com economia de artifcios e objetividade
s comparveis s adotadas pelas Escolas de
Samba brasileiras no preparo de seus desfiles de
carnaval. Se a rubrica O Mar no pode ser vista como um poema, a cena a que ela remete se
apresenta como tal em sua fantasmagrica condio de cena imaginria. Isto fica mais claro
numa cena posterior tambm inteiramente definida pelas rubricas.
Como se chamassem o mar e todos os santos
para si, vo danando sem saber, nos rochedos, derramando as areias coloridas de ampulhetas do tempo, fazendo praias, ou rimbaudianamente, tirando um paraleleppedo
e encontrando A PRAIA. Se deixando batizar pelo mar... mergulhadas por ele... receptivas... O mar pode ser cria da luz, esborrifando respingos pontilhistas.
Mais que um desafio ao futuro encenador, que
ter de transformar esta imaterialidade concei-
tual em cena concreta, a rubrica aqui sugere
uma imagem potica autnoma, que se afirma
literariamente e, de certa forma, independe de
qualquer cena futura para efetivar-se. O esborrifar de respingos pontilhistas pode ser no
imaginrio do leitor, ao mesmo tempo, simplesmente uma cena imprecisa ou o vislumbrar de
um efeito deslumbrante. Tem a no determinao referencial tpica da poesia e como tal depender sempre da subjetividade do leitor para
se delinear como significante. Neste caso, a condio potica da rubrica de Jos Celso remeteria basicamente ao literrio.
Mas possvel localizar, em Cacilda!, algumas rubricas que alm de implicarem em
movimentos fsicos indispensveis como o
caso das rubricas de Beckett , projetam uma
cena cujos contedos espetaculares so, em si
mesmos, poticos. Um exemplo seria a cena
Parto Enterro do terceiro ato. Nela a personagem Cacilda paramentada como uma mistura
de Marguerite Gauthier, de Dama das Camlias
de Dumas Filho e Maria Stuart a herona da
pea de mesmo nome de Schiller. Depois de ser
vestida com uma saia rodada com uma armao hemisfrica com mapa antigo do hemisfrio norte com colorao parda, em que os
anis da armao aparecem como se fossem os
trpicos do globo terrestre, a herona colocada na carroa de Pozzo-Me Coragem cega
guiando, e levada at o cemitrio como uma
santa num andor. Cacilda anuncia a chegada
de Godot, conversa com Ana Kennedy, delira e
termina acusando: Isto uma decapitao!.
a senha para que o coro coloque a santa,
paramentada como Maria Stuart, de cabea para
baixo no buraco de ponto. Como conseqncia, desencadeia-se uma cena muda, tecida s
com adereos e elementos cenogrficos.
o corpo mergulha no buraco do ponto (...) Se
v o hemisfrio virado: o hemisfrio sul. A
saia mapa do hemisfrio norte como um tapete no cho do palco, um primeiro crculo
branco do continente rtico, depois a seqncia do trpico de cncer. Na armao se v o
19
sala preta
hemisfrio sul, como uma taa aberta para o
cu.
A descrio nem to exata quanto intensa a
carga de significados que encerra. O que Jos
Celso quer descrever a transformao de uma
saia rodada com imagem plida do hemisfrio
norte, em seu avesso, tornado tapete, com uma
imagem colorida e viva do mesmo hemisfrio
norte. Ao mesmo tempo, a armao que estava
encoberta pela saia rodada no incio da cena,
com o mergulho da atriz no buraco do ponto,
torna-se uma taa cuja superfcie externa traz o
hemisfrio sul impresso. uma cena relativamente simples de executar, mas que ganha uma
dimenso simblica extraordinria: a decapitao de um teatro europeu e sua transformao
num novo teatro brasileiro, cuja encarnao a
Jovem Atriz, ou a nova Cacilda que por ali,
pelo buraco do ponto, nascer.
Na verdade, no uma cena bem escrita,
ou bem descrita, como, foi observado, as cenas
mudas de Beckett o so. Mas do ponto de vista
teatral, no preciso muita imaginao do leitor para vislumbrar um grande impacto plstico. Ao mesmo tempo, enquanto dramaturgia,
um possvel clmax da trama, a partir do qual a
ao se encaminha para um desfecho. o parteiro invisvel, Godot, quem devora a antiga Cacilda com coroa de bobs dourados de Floripes
e luvas duras de Velha Senhora e d luz uma
menininha. Como um poema carregado de
sentidos, o corpo de Cacilda de ponta cabea,
com o hemisfrio sul ereto e o hemisfrio norte
a seus ps, sintetiza fisicamente a cena de Jos
Celso, um cone do seu teatro, ou da sua linguagem de teatro, aqui apenas cifrado em rubrica e empalidecido. De alguma forma, a Maria Stuart de cabea para baixo, que d luz um
Godot tropical, emblemtica da idia de que
seja possvel estudar a linguagem cnica de um
autor (encenador ou dramaturgo) no apenas
nos seus espetculos, mas tambm na sua dramaturgia, principalmente em suas rubricas. Sem
ser formalista como Beckett, Jos Celso esculpe
sua cena numa tridimensionalidade que lhe
tpica. Ele enuncia, mesmo que nesta forma
20
rouca e plida que a didasclia, uma materialidade singular, da mesma forma que um arquiteto pode faz-lo quando projeta um espao.
A referncia matria cnica nas didasclias de Jos Celso revela algo que no pertinente apenas literatura dramtica deste encenador, mas tambm aos seus espetculos. H
um intercmbio inevitvel entre o plano literrio
e o plano cnico que pode, por exemplo, repercutir no espetculo com rubricas sendo explicitadas verbalmente em cena, e, no plano literrio, aqui em exame, na contaminao da
didasclias pelo discurso do encenador. Isto fica
claro na ltima rubrica do terceiro ato, que antecede o dilogo final de Walmor Wladimir e
Cacilda Estragon.
No teatro do teatro uma constelao acesa,
em cima do buraco do ponto. O Arco Riso de
Flvio do Caralho: Plantio de Estrelas no cho
do Cu. Silncio. Os palcos esto calados como
cemitrios. Saem todos, correndo atrs de Godot. O cemitrio fica entregue a si mesmo, s
Walmor. Cacilda est debaixo do palco (...)
O pblico pode at ver Cacilda Estragon, mas
supe-se que Walmor Wladimir no veja.
Esta combinao de indicao cnica objetiva
Cacilda est debaixo do palco; lirismo plantio de estrelas no cho do cu; trocadilhos O
Arco Riso de Flvio do Caralho; e narrativa ficcional Saem todos correndo atrs de Godot
expressa bem a condio de Jos Celso de encenador dramaturgo: os procedimentos tradicionalmente literrios so tensionados por indicaes que afirmam uma materialidade cnica que
lhe familiar. De outro lado, a prescrio didasclica, que numa dramaturgia como a de
Beckett, mesmo com influncia crescente na
constituio do drama, mantm-se impermevel subjetividade autoral, em Jos Celso ser
invadida por manifestaes idiossincrticas do
autor, que vo relativizar a tradicional objetividade da didasclia.
Na verdade, a rubrica, com o tempo presente radical que lhe caracterstico, torna-se
uma ferramenta necessria e muito til para que
A rubrica como literatura da teatralidade: modelos textuais e poticas da cena
se opere este tipo de confuso ou de superposio do literrio e do cnico. um fenmeno
que se manifestou, por exemplo, na dramaturgia de outro encenador e dramaturgo contemporneo, Tadeusz Kantor. Ele trabalhava numa
linha muito diferente da de Jos Celso, mas tinha em comum fazer de uma relao idiossincrtica com o processo de trabalho o eixo
temtico de seu teatro. Um autor como Jos
Celso vai ter expressos em suas rubricas tanto o
olhar plstico do fazedor de mscaras, como a
perspectiva do poeta dramtico que compe
aes e est restrito nos limites da fico. Um
autor como Kantor, operando na contramo da
tradio dramtica, vai projetar nas didasclias
uma cena que ele cria diretamente no processo
de montagem. As rubricas narram esse processo
criativo a posteriori. uma cena que j no necessita de trama e que transforma o fazedor de
mscaras num escritor. Em qualquer um dos
casos, as rubricas no serviro para reconstituir
um espetculo j transcorrido, nem tampouco
sero condio suficiente para converter em
cena concreta um imaginado projeto de espetculo. De to pessoais, os comentrios didasclicos de ambos sero matria exclusiva para
suas prprias verses espetaculares daqueles textos Mas guardaro sempre, num vislumbre, essa
memria ou esse sonho de um espetculo virtual. Um que talvez nunca acontea ou nunca
tenha acontecido. As rubricas, enfim, projetaro um antes ou um depois, um alm ou um
aqum, oferecendo uma possibilidade de se ler
o cnico no literrio.
A escritura no teatro contemporneo vem
crescentemente sendo realizada pelo fazedor de
mscaras, que ocupa o lugar do poeta dramtico como rubricador. Seja no escrever de cenas
de textos cnicos como a semitica convencionou , seja no escrever de literaturas, anteriores, simultneas ou posteriores aos espetculos, quem vem operando hegemonicamente o
fazedor de mscaras. No importa se os autores desta cena contempornea so dramaturgos
ou encenadores, o que prevalece que a frma
adequada ao poeta dramtico na descrio de
Aristteles, se ainda serve fico no cinema,
na televiso e no prprio teatro, j no atende
eloqncia plstica e pictrica que certos criadores ambicionam. A estes novos dramaturgos,
afilhados espirituais do fazedor de mscaras, a
rubrica surge como uma forma intermediria
entre um modelo de drama que j no serve ao
teatro que se quer fazer, e um novo modo de
escritura para um teatro que ainda no se fez.
Referncias bibliogrficas
ALTER, J. Waiting for the Referent-Waiting for Godot? On Referring in Theatre. In: On referring in
literature. Bloomington, Indiana University Press, 1987.
_______. A Socio-Semiotic Theory of Theatre. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990.
BECKETT, S. En Attendant Godot. Paris, Les ditions de Minuit, 1952.
_______. Catastrophe. In: The Complete Dramatic Works. London, Faber & Faber, 1986.
_______. Play. In: The Complete Dramatic Works. London, Faber & Faber, 1990.
CARLSON, M. Dramatic Texts and Performance. In: Semitica, 82: 1/2, 1990.
_______. The status of stage direction. In: Studies in the Literary Imagination. Vol. XXIV, n. 2.
INGARDEN, R. Les fonctions du language au thtre. In: Potique, 8, 1971.
21
sala preta
ISSACHAROFF, M. Voix, autorit, didascalies. In: Potique, 96, 1993.
PAVIS, P. From Page to Stage. In: Theatre at the Crossroads of Culture. London, Routledge, 1992.
ROZIK, E. The Functions of Language in Theatre. In: Theatre Research International. Vol 18, n. 2. Oxford,
Claredon Press, 1991.
SEARLE, J. Speech Acts: An Essay in the philosophy of Language. Cambridge, Cambridge University Press,
1969.
UBERSFELD, A. Lire le Thatre 1. Paris, ditions Sociale, 1977.
_______. Lire le Thatre 2: Lcole du spectateur. Paris, Les Editions Sociale, 1981.
22
Você também pode gostar
- Resumo Poética AristótelesDocumento12 páginasResumo Poética AristótelesVivian Carvalho100% (1)
- Dort, Bernard - O Estado de Espírito Dramatúrgico - PDFDocumento4 páginasDort, Bernard - O Estado de Espírito Dramatúrgico - PDFpaulo gonsoAinda não há avaliações
- Catalogo A Direcao de Arte No Cinema BrasileiroDocumento123 páginasCatalogo A Direcao de Arte No Cinema BrasileiroOhana Abreu100% (1)
- Cinema, da letra à tela: Adaptação literária para cinema e televisãoNo EverandCinema, da letra à tela: Adaptação literária para cinema e televisãoAinda não há avaliações
- Robert Stam - Intertextualidade PDFDocumento35 páginasRobert Stam - Intertextualidade PDFCarol BenazzatoAinda não há avaliações
- O Lírico Invasor e Problematizador Do Drama Contemporâneo Aqui de Martina Sohn FischerDocumento13 páginasO Lírico Invasor e Problematizador Do Drama Contemporâneo Aqui de Martina Sohn FischerMarcos SavaeAinda não há avaliações
- Lins, Osman - Nove, NovenaDocumento123 páginasLins, Osman - Nove, Novenameeee2011100% (2)
- A Personagem de Ficcao - Antonio Candido e OutrosDocumento56 páginasA Personagem de Ficcao - Antonio Candido e OutrosKika-ChanAinda não há avaliações
- Fotografia HistóriaDocumento595 páginasFotografia HistóriaRáisa MendesAinda não há avaliações
- 2 - A Rubrica Como Literatura Da Teatralidade - Luiz Fernando RamosDocumento14 páginas2 - A Rubrica Como Literatura Da Teatralidade - Luiz Fernando RamosHumberto IssaoAinda não há avaliações
- A Rubrica Como Literatura Da TeatralidadeDocumento15 páginasA Rubrica Como Literatura Da Teatralidademachado_eduAinda não há avaliações
- ESCRITURADRAMÁTICADocumento2 páginasESCRITURADRAMÁTICAJonatas Tavares da SilvaAinda não há avaliações
- O Fenômeno Teatral, de Anatol Rosenfeld (Resenha Crítica)Documento2 páginasO Fenômeno Teatral, de Anatol Rosenfeld (Resenha Crítica)Lima_198050% (4)
- MACIEL Diogenes Das - Novas - Escritas - Dramaturgicas - RapsodiaDocumento14 páginasMACIEL Diogenes Das - Novas - Escritas - Dramaturgicas - RapsodiaHUGO MARTINS CASTILHOAinda não há avaliações
- Escrita de Si Angelica Liddel PDFDocumento10 páginasEscrita de Si Angelica Liddel PDFMarina StuchiAinda não há avaliações
- Possíveis Processos de Escrita ContemporâneaDocumento7 páginasPossíveis Processos de Escrita ContemporâneaVini CairesAinda não há avaliações
- DeteatrizaçãoDocumento19 páginasDeteatrizaçãosandoval nonatoAinda não há avaliações
- Alteridade em PessoaDocumento16 páginasAlteridade em PessoaLixo ElectronicoAinda não há avaliações
- O Texto e A Encenação - Edélcio MostaçoDocumento5 páginasO Texto e A Encenação - Edélcio MostaçoLuciano Flávio de OliveiraAinda não há avaliações
- Luiz - Teatro RapsódicoDocumento51 páginasLuiz - Teatro RapsódicoThaïsVasconcelosAinda não há avaliações
- Atitudes e Formas Do Lírico Wolfgang KayserDocumento6 páginasAtitudes e Formas Do Lírico Wolfgang KayserJulia Monteiro da SilvaAinda não há avaliações
- Poeticas Da Cena - Editoria A. Bernstein e L. Erber - O PercevejoDocumento4 páginasPoeticas Da Cena - Editoria A. Bernstein e L. Erber - O PercevejoFabio FerreiraAinda não há avaliações
- Júlio César Viana SaraivaDocumento4 páginasJúlio César Viana SaraivaImaculada NascimentoAinda não há avaliações
- Artigo BereniceDocumento8 páginasArtigo BereniceRafael Salmazi SachsAinda não há avaliações
- 195402-Texto Do Ensaio-551713-2-10-20220428 PDFDocumento22 páginas195402-Texto Do Ensaio-551713-2-10-20220428 PDFLuís LimaAinda não há avaliações
- O MundoDocumento42 páginasO MundoBloco Pega na MinhaAinda não há avaliações
- Estrutura Do Texto Literario em ProsaDocumento15 páginasEstrutura Do Texto Literario em ProsaVenha ler a África Vozes africanasAinda não há avaliações
- PASOLINI - O Roteiro Como 'Estrutura Que Quer Ser Outra 'EstruturaDocumento11 páginasPASOLINI - O Roteiro Como 'Estrutura Que Quer Ser Outra 'EstruturajoanaasnogueiraAinda não há avaliações
- Juciene, 10 Lilian Fleury DÃ RiaDocumento14 páginasJuciene, 10 Lilian Fleury DÃ RiaMatheus MarquesAinda não há avaliações
- (Roteiro de Aula) A Convivência DramáticaDocumento5 páginas(Roteiro de Aula) A Convivência Dramáticaplatiny8Ainda não há avaliações
- Resumos Dramaturgia (Hamburger, Styan e Jones)Documento6 páginasResumos Dramaturgia (Hamburger, Styan e Jones)Igor GomesAinda não há avaliações
- 2.artigo - CORRALES, Luciano. A Intertextualidade e Suas OrigensDocumento12 páginas2.artigo - CORRALES, Luciano. A Intertextualidade e Suas OrigenskarithaAinda não há avaliações
- Resumo Do Livro - O Que É A Dramaturgia? - Danan JosephDocumento9 páginasResumo Do Livro - O Que É A Dramaturgia? - Danan Josephhanna100% (1)
- A Imagem Na Literatura e A Palavra No CinemaDocumento7 páginasA Imagem Na Literatura e A Palavra No CinemaeniobiaggiAinda não há avaliações
- Vera Lins SB A Ficção e o Poema Costa Lima MímesisDocumento4 páginasVera Lins SB A Ficção e o Poema Costa Lima MímesisCLAUDIA DIASAinda não há avaliações
- Artigo Sonhos de Uma Noite de VerãoDocumento16 páginasArtigo Sonhos de Uma Noite de VerãoYasmim100% (1)
- O Gênero Romanesco: Um Aliado No Surgimento: Do Ser Da LinguagemDocumento9 páginasO Gênero Romanesco: Um Aliado No Surgimento: Do Ser Da LinguagemIgor MaiaAinda não há avaliações
- 293 954 1 SMDocumento12 páginas293 954 1 SMFernando Oliveira 2Ainda não há avaliações
- Melancolia em Sérgio de Castro PintoDocumento10 páginasMelancolia em Sérgio de Castro PintoMaria de FátimaAinda não há avaliações
- Haverá Um Texto Neste TeatroDocumento6 páginasHaverá Um Texto Neste TeatroAngela RibeiroAinda não há avaliações
- Literatura e TeatroDocumento20 páginasLiteratura e TeatroAngélica Tomiello100% (1)
- Textualidades ContemporaneasDocumento10 páginasTextualidades ContemporaneasMartha De Mello RibeiroAinda não há avaliações
- La magia de lo verosímil: ensayos de la literatura y lingüísticaNo EverandLa magia de lo verosímil: ensayos de la literatura y lingüísticaAinda não há avaliações
- 538 1671 1 PBDocumento18 páginas538 1671 1 PBFabio Prado de FreitasAinda não há avaliações
- MMM silviaFernandesTeatrContempDocumento14 páginasMMM silviaFernandesTeatrContempMaria FlorAinda não há avaliações
- Texto e Cena, Cena É Texto: Apontamentos Sobre A Produção Do Enunciado Cênico No Teatro ContemporâneoDocumento18 páginasTexto e Cena, Cena É Texto: Apontamentos Sobre A Produção Do Enunciado Cênico No Teatro ContemporâneoMiguel SegundoAinda não há avaliações
- A Adaptação Fílmica Como Procedimento de Tradução IntersemióticaDocumento12 páginasA Adaptação Fílmica Como Procedimento de Tradução Intersemióticaadrianasantos20Ainda não há avaliações
- Poética em PrólogosDocumento13 páginasPoética em PrólogosluizpaixaoAinda não há avaliações
- DramaturgiaDocumento9 páginasDramaturgiaGivaldo Moisés de OliveiraAinda não há avaliações
- Artaud Explicado É Artaud TraidoDocumento13 páginasArtaud Explicado É Artaud TraidoHugo CastilhoAinda não há avaliações
- Em Defesa Do Corpo, em Defesa Da Voz: A Situação Da Performance Vocal Do Poema e de Sua Investigação, Lucas de Mello MatosDocumento21 páginasEm Defesa Do Corpo, em Defesa Da Voz: A Situação Da Performance Vocal Do Poema e de Sua Investigação, Lucas de Mello MatosIsabelle PantojaAinda não há avaliações
- CALAMEDocumento19 páginasCALAMECaio RomAinda não há avaliações
- SOBRE A TEORIA DA PROSA-Teoria Da Literatura Formalistas Russos - B.eikhenbaumDocumento7 páginasSOBRE A TEORIA DA PROSA-Teoria Da Literatura Formalistas Russos - B.eikhenbaumTania CosciAinda não há avaliações
- Poetas À Beira de Uma Crise de VersosDocumento10 páginasPoetas À Beira de Uma Crise de VersosCintia FollmannAinda não há avaliações
- "O Processo" de Franz Kafka e Orson WellesDocumento7 páginas"O Processo" de Franz Kafka e Orson WellesYasmin FerrazAinda não há avaliações
- A Recusa Das Acepções Clássica e Realista de Mimese em TutaméiaDocumento17 páginasA Recusa Das Acepções Clássica e Realista de Mimese em TutaméiaMarcos César da SilvaAinda não há avaliações
- 06537622832, Railson AlmeidaDocumento12 páginas06537622832, Railson AlmeidaHUGO MARTINS CASTILHOAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa o Cinema Nos Doze Contos Peregrinos de Gabriel García MárquezDocumento8 páginasProjeto de Pesquisa o Cinema Nos Doze Contos Peregrinos de Gabriel García MárquezBárbara RochaAinda não há avaliações
- Teatro X NarrativaDocumento10 páginasTeatro X NarrativaFelipe CastroAinda não há avaliações
- Artigo Ilha Do DesterroDocumento15 páginasArtigo Ilha Do DesterroCarolina SartomenAinda não há avaliações
- A Dramaturgia Além Do Drama de Jon Fosse em o NomeDocumento10 páginasA Dramaturgia Além Do Drama de Jon Fosse em o NomeKk42b0% (1)
- A Arquitetura Literária de Eça de Queiroz:: Considerações Sobre a Prosa QueirosianaNo EverandA Arquitetura Literária de Eça de Queiroz:: Considerações Sobre a Prosa QueirosianaAinda não há avaliações
- FunMetEnsArt CRC PDFDocumento248 páginasFunMetEnsArt CRC PDFAlex Silva100% (1)
- Artes Cenicas Aula IDocumento8 páginasArtes Cenicas Aula IEmanuela RibeiroAinda não há avaliações
- Rizzi CorrigidaDocumento146 páginasRizzi CorrigidaEdson SouzaAinda não há avaliações
- Apostila de Filosofia 3anoDocumento14 páginasApostila de Filosofia 3anoAna Paula JadersonAinda não há avaliações
- 1 OS INTELECTUAIS E O CINEMA NOVO, SUAS VINCULAÇÕES E SUAS PROPOSTAS. Hélton Santos Gomes RESUMO - O Objetivo Deste TrabalhoDocumento11 páginas1 OS INTELECTUAIS E O CINEMA NOVO, SUAS VINCULAÇÕES E SUAS PROPOSTAS. Hélton Santos Gomes RESUMO - O Objetivo Deste TrabalhoDanilo OliveiraAinda não há avaliações
- ExpressionismoDocumento14 páginasExpressionismoIzabella Taynara100% (1)
- Animação 3D Digital IDocumento3 páginasAnimação 3D Digital IvenisemeloAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos (Atualizado)Documento116 páginasCaderno de Resumos (Atualizado)Matheus CostaAinda não há avaliações
- 799 2222 1 PBDocumento11 páginas799 2222 1 PBDenílsonAinda não há avaliações
- O Pós-ModernismoDocumento12 páginasO Pós-ModernismoDavid SeveroAinda não há avaliações
- Ecologia e LiteraturaDocumento16 páginasEcologia e LiteraturaJuliana MorosinoAinda não há avaliações
- Performance e Escrita Performática - Denise PedronDocumento10 páginasPerformance e Escrita Performática - Denise PedronPedro Ivo AlvarezAinda não há avaliações
- História Da ArteDocumento18 páginasHistória Da ArteAlisson Fonseca TavaresAinda não há avaliações
- Amostra jl089 1Documento12 páginasAmostra jl089 1joelmersonAinda não há avaliações
- Web Estética PDFDocumento118 páginasWeb Estética PDFtomboechatAinda não há avaliações
- Papietagem (Manual de Aula) - Izabelle CorrêaDocumento5 páginasPapietagem (Manual de Aula) - Izabelle CorrêaLyncolnAinda não há avaliações
- Trabalho de Portugues - Humanismo e Classicismo - Felix SilvaDocumento18 páginasTrabalho de Portugues - Humanismo e Classicismo - Felix SilvaKerolen Borges100% (1)
- O Ator Risível-Fernando LiraDocumento7 páginasO Ator Risível-Fernando LiraRafaela Maria França GuimarãesAinda não há avaliações
- 9 - Parnasianismo PDFDocumento1 página9 - Parnasianismo PDFPaulo VictorAinda não há avaliações
- Escatología e Historia - George Uscatescu (V3)Documento240 páginasEscatología e Historia - George Uscatescu (V3)Tito Fernández Cubillos100% (1)
- Revisao UelDocumento4 páginasRevisao UelGuilherme Alves BombaAinda não há avaliações
- 3º ANO MEDIO Atividade ComplementarDocumento10 páginas3º ANO MEDIO Atividade ComplementarRita de cassia Gomes ChavesAinda não há avaliações
- Raízes Da Cultura Brasileira 7° AnoDocumento16 páginasRaízes Da Cultura Brasileira 7° AnoDuda OliveAinda não há avaliações
- Cálculo Da Numerologia Da CasaDocumento5 páginasCálculo Da Numerologia Da CasaClaudia Lins100% (1)
- Atividade de Proteção - Artes - 2º AbDocumento2 páginasAtividade de Proteção - Artes - 2º AbCristiane Lima ArraisAinda não há avaliações
- Exemplo de Um Questionario de Autoconhecimento de Orientação VocacionalDocumento5 páginasExemplo de Um Questionario de Autoconhecimento de Orientação VocacionalLeonardoAinda não há avaliações
- Escola o Bom Pastor Ativid Ferias TerceiraoDocumento59 páginasEscola o Bom Pastor Ativid Ferias Terceiraodemetriosobrinho100% (2)