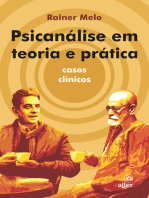Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Uma Leitura Psicanalítica Sobre A Feminilidade-Alessandra - Meira
Uma Leitura Psicanalítica Sobre A Feminilidade-Alessandra - Meira
Enviado por
Rafael PereiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Uma Leitura Psicanalítica Sobre A Feminilidade-Alessandra - Meira
Uma Leitura Psicanalítica Sobre A Feminilidade-Alessandra - Meira
Enviado por
Rafael PereiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM PSICOLOGIA
MESTRADO EM PSICOLOGIA
ALESSANDRA DA COSTA MEIRA
Dos impasses da maternidade a uma verdade indizvel:
Uma leitura psicanaltica sobre a feminilidade
Orientadora: Prof. Dr. Andra Hortlio Fernandes
SALVADOR
2010
ALESSANDRA DA COSTA MEIRA
Dos impasses da maternidade a uma verdade indizvel:
Uma leitura psicanaltica sobre a feminilidade
Dissertao apresentada ao Programa
de Ps-Graduao em Psicologia,
Universidade Federal da Bahia, como
requisito parcial para a obteno do
ttulo de Mestre em Psicologia, rea de
concentrao:
Psicologia
do
Desenvolvimento.
Orientadora: Prof. Dr. Andra Hortlio Fernandes
SALVADOR
2010
_____________________________________________________________________________
M514
Meira, Alessandra da Costa
Dos impasses da maternidade a uma verdade indizvel: uma leitura
psicanaltica sobre a feminilidade / Alessandra da Costa Meira. Salvador, 2010.
109 f.: il.
Orientadora: Prof. Dr. Andra Hortlio Fernandes
Dissertao (mestrado) Universidade Federal da Bahia, Faculdade de
Filosofia e Cincias Humanas, 2010.
1. Mulheres. 2. Psicanlise. 3. Feminilidade. 4. Maternidade. 5. Sexualidade.
6. Gozo. I. Fernandes, Andra Hortlio. II. Universidade Federal da Bahia,
Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas. III. Ttulo.
CDD 305.4
ALESSANDRA DA COSTA MEIRA
Dos impasses da maternidade a uma verdade indizvel:
Uma leitura psicanaltica sobre a feminilidade
Dissertao apresentada ao Programa
de Ps-Graduao em Psicologia,
Universidade Federal da Bahia, como
requisito parcial para a obteno do
ttulo de Mestre em Psicologia, rea de
concentrao:
Psicologia
do
Desenvolvimento.
Aprovada em: 30/07/2010
Banca Examinadora:
________________________________________________
Prof. Dr. Andra Hortlio Fernandes (Orientadora)
Instituio: Universidade Federal da Bahia - UFBA
________________________________________________
Prof. Dr. Denise Maria Barreto Coutinho
Instituio: Universidade Federal da Bahia - UFBA
________________________________________________
Prof. Dr. Dris Luz Rinaldi
Instituio: Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
s mulheres deste mundo, cada uma
com seus mistrios, desejos e sonhos,
impossveis de serem descritos ou
desvendados em sua totalidade,
porque singulares.
AGRADECIMENTOS
Enfim, chegada a hora de parar, olhar para trs e reconhecer a importncia daqueles
que contriburam para que eu me encontre aqui e agora, no percurso desta pesquisa.
Algumas destas pessoas esto presentes em minha vida desde muito tempo e vm
acompanhando lado a lado minhas pequenas e grandes conquistas. Outras cruzaram o
meu caminho de modo mais recente, mas deixaram marcas que o tempo no leva
facilmente.
Agradeo, ento, primeiramente aos meus pais, Albaniza e Daniel, que sempre
acreditaram em mim, fornecendo o incentivo e o apoio que precisei durante todo o meu
ciclo de vida. Ao meu irmo, Dan, por estar ao meu lado para compartilhar diversos
momentos. minha prima, Juliana, por se tornar agora ainda mais presente na famlia.
Ao meu noivo Maurcio, pelo seu companheirismo e estmulo, e por compreender quando
eu precisava me ausentar em virtude das ocupaes acadmicas.
orientadora Andra Fernandes, que, com sua leitura atenta e observaes valiosas,
pde me conduzir nesse processo de construo de saber.
A Vra Motta, que, ainda na graduao, me introduziu na teoria e na tcnica da
psicanlise e, desde ento, tem me dado uma ajuda providencial na conduo dos casos
clnicos.
Aos colegas de mestrado, que compartilharam comigo a aquisio de novos
conhecimentos e as angstias que envolvem a produo de uma dissertao. Um
agradecimento especial a Samai, Smia, Viviane e Rachel, que se tornaram muito mais
do que colegas e me proporcionaram momentos extremamente agradveis.
Agradeo tambm aos participantes do grupo de pesquisa em psicanlise coordenado
pela minha orientadora, espao no qual pude ouvir contribuies importantssimas para o
delineamento da minha pesquisa. Obrigada, principalmente, a Manoella, colega de
estgio docente que, vivenciando um percurso muito semelhante ao meu, pde
proporcionar muitas trocas frutferas.
s professoras Denise Coutinho e Snia Sampaio, e doutoranda Hortnsia Brando,
por terem lido meu trabalho nos Seminrios de Qualificao e apontado rumos para que
eu pudesse melhor-lo.
Aos professores com quem tive contato no PPGPsi durante as disciplinas que cursei, e a
Ivana e Henrique, por serem sempre to solcitos no atendimento aos ps-graduandos.
A Luciana e Sabrina, grandes amigas que iniciaram comigo os primeiros passos no
estudo da psicanlise.
Ao IPERBA, por me proporcionar um campo de atuao profissional favorvel e uma
convivncia saudvel com os colegas das diversas reas. Em especial, Dra. Dolores,
que, dirigindo esta instituio, foi compreensiva com as minhas solicitaes, e s colegas
de setor, Aline e Fernanda, que compartilham comigo no dia-a-dia a dor e a delcia de ser
psicloga, em um hospital pblico.
E finalmente, mas nem por isso menos importante, s pacientes que confiam a mim seus
segredos, desejos e angstias, principalmente, quelas que me inspiraram a escrever
este trabalho, o meu muito obrigada!
A porta da verdade estava aberta,
Mas s deixava passar
Meia pessoa de cada vez.
Assim no era possvel atingir toda a verdade,
Porque a meia pessoa que entrava
S trazia o perfil de meia verdade,
E a sua segunda metade
Voltava igualmente com meios perfis
E os meios perfis no coincidiam verdade...
Arrebentaram a porta.
Derrubaram a porta,
Chegaram ao lugar luminoso
Onde a verdade esplendia seus fogos.
Era dividida em metades
Diferentes uma da outra.
Chegou-se a discutir qual
a metade mais bela.
Nenhuma das duas era totalmente bela
E carecia optar.
Cada um optou conforme
Seu capricho,
sua iluso,
sua miopia.
A Verdade Carlos Drummond de Andrade
RESUMO
Meira, A. da C. (2010). Dos impasses da maternidade a uma verdade indizvel: uma
leitura psicanaltica sobre a feminilidade. Dissertao de Mestrado, Programa de
Ps-graduao em Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
A maternidade envolve desejos e fantasias, bem como todo um contexto que permeia a
gestao, constituindo, dessa forma, uma situao que vai alm da deciso consciente
de ter ou no um filho. Estimamos que a psicanlise, enquanto teoria do inconsciente,
mtodo de investigao dos processos psquicos e de tratamento de afeces nervosas,
possa fornecer elementos importantes para o entendimento deste tema. Como psicloga
do Instituto de Perinatologia da Bahia, IPERBA, deparei-me com uma problemtica que
ps em discusso os termos maternidade, verdade e feminilidade, aqui tomados sob o
vis da perspectiva psicanaltica. Apresentamos a questo central da seguinte forma: De
que maneira estes conceitos, extrados das teorias freudiana e lacaniana, podem ser
correlacionados dimenso dos desejos inconscientes singulares de cada mulher?
Primeiramente, foi realizado um exame da produo psicanaltica sobre a maternidade, a
feminilidade e a verdade, em Freud e Lacan. Tambm fez parte deste percurso a anlise
do tornar-se mulher a partir das frmulas da sexuao propostas por Lacan e, por fim, a
descrio das noes de mulher e verdade segundo a concepo lacaniana de que
ambas so no-todas. Sabendo que a construo do saber em psicanlise est
indissociada da prtica clnica, utilizou-se o estudo de caso como mtodo da presente
pesquisa. Sendo assim, foram selecionados trs fragmentos de casos clnicos que,
demonstrando posies subjetivas bastante peculiares frente maternidade, evidenciam
a ideia de que, por meio da fala, se revelam as verdades singulares de cada mulher.
Percebe-se que, embora a situao de maternidade seja desencadeadora de vrios
impasses, a forma de lidar com ela algo singular para cada mulher e faz relao com
os caminhos pelos quais as mulheres se lanam em busca da feminilidade. Por ser
constituda como no-toda, assim como a verdade, torna-se impossvel colocar em
palavras o que define a verdadeira feminilidade.
Palavras-chave: feminilidade, psicanlise, maternidade, verdade, sexuao, gozo.
10
ABSTRACT
Meira, A. da C. (2010). From the dilemmas of motherhood to an unspoken truth: a
psychoanalytic reading about femininity. Dissertao de Mestrado, Programa de Psgraduao em Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
Motherhood involves desires and fantasies, as well as a context that permeates
throughout gestation and is thus a situation that goes beyond the conscious decision of
having or not a child. It is estimated that psychoanalysis as a theory of the unconscious, a
method of investigation of mental processes and treatment of nervous disorders, may
provide important elements for understanding the subject. As a psychologist at Instituto de
Perinatologia da Bahia, IPERBA, a problem arose, which brought into discussion the
terms motherhood, femininity and truth, taken here under the bias of the psychoanalytic
perspective. The central question presented as follows: How do these concepts, taken
from Freudian and Lacanian theories, can be correlated with the unconscious desires of
each individual woman? First, we performed a psychoanalytic examination of the
production of motherhood, femininity and the truth in Freud and Lacan. Was also part of
this path the analysis of becoming a woman from the formulas of sexuality proposed by
Lacan and, finally, the description of the notions of woman and truth according to
Lacanian conception that both are "not-all". Knowing that the building of knowledge in
psychoanalysis is not dissociated from clinical practice, we used the case study method in
the present research. Therefore, we selected three pieces of clinical cases, demonstrating
subjective positions rather peculiar forward to motherhood, highlight the idea that, through
speech, it is revealed the truth of each individual woman. It is noticed that, although the
situation of motherhood is triggering several dilemmas, how to deal with it is something
unique for every woman and is related to the ways by which women are engaging in
search of femininity. Being established as not-all like truth, it becomes impossible to put
into words what defines the true femininity.
Keywords: femininity, psychoanalysis, maternity, truth, sexuality, jouissance.
11
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Frmulas da sexuao ................47
Figura 2 Frmula da metfora paterna ..........................................................................50
Figura 3 Traos diferenciais entre a mulher e a histrica ..............................................64
Figura 4 Lugares do discurso ........................................................................................84
Figura 5 Discursos radicais da psicanlise ....................................................................85
Figura 6 Discurso capitalista ..........................................................................................88
Figura 7 Deslocamento da equao simblica beb/falo para beb/gadget .................91
12
SUMRIO
1. INTRODUO .............................................................................................................13
1.1. QUESTES PRELIMINARES SOBRE A MULHER, A MATERNIDADE E A
VERDADE ...............................................................................................................13
1.2. REVISO DE LITERATURA: CONTRIBUIES DA ATUALIDADE ....................21
1.3. ESTUDO DE CASO E PESQUISA EM PSICANLISE .........................................26
1.4. TRS MULHERES E VRIOS DESTINOS ...........................................................31
2. A MULHER E A ME NA PSICANLISE....................................................................34
2.1. FEMINILIDADE E MATERNIDADE DE FREUD A LACAN ....................................34
2.2. A HISTRICA E A MULHER ..................................................................................58
2.3. A MSCARA DA FEMINILIDADE ..........................................................................68
3. VERDADE INDIZVEL ..................................................................................................76
3.1. A VERDADE EM PSICANLISE E SUA RELAO COM A MULHER .................76
3.2. A VERDADE NOS DISCURSOS DA PSICANLISE .............................................84
4. CONSIDERAES FINAIS .........................................................................................93
REFERNCIAS ..............................................................................................................102
13
1. INTRODUO
1.1. QUESTES PRELIMINARES SOBRE A MULHER, A MATERNIDADE E A
VERDADE
Historicamente, a figura feminina associada a sentidos bastante distintos. Na tradio
crist, por exemplo, Eva e Maria representam, respectivamente, o pecado e a pureza. A
ideia de que a mulher deveria ser submissa ao homem e que sua funo primordial se
restringia maternidade foi justificada por argumentos biolgicos e perdurou at o sculo
XVIII, quando se iniciou na Europa um movimento de emancipao que buscava definir a
mulher como ser autnomo (Badinter, 1985).
Na contemporaneidade, a leitura biologizante sobre a maternidade ainda muito
pregnante. Badinter (1985, p. 11), ao questionar a origem do amor materno, ressalta que,
embora muitos cientistas saibam perfeitamente que o conceito de instinto est caduco,
alguma coisa em ns, mais forte do que a razo, continua a pensar na maternidade em
termos de instinto. Para esta autora, no entanto, a mulher um ser histrico, dotado da
capacidade de simbolizar, e cujo desejo particular (Badinter, 1985, p. 16).
A situao de maternidade geralmente envolve desejos e fantasias do homem e da
mulher, alm de todo o contexto que permeia a gestao. Tudo isto se coaduna de
maneira extremamente complexa e culmina no nascimento de um novo ser. Mas Chatel
(1995) adverte que, atualmente, com o advento da chamada medicina da procriao,
cujo interesse recai sobre a capacidade fisiobiolgica da mulher de gestar uma criana, a
tecnologia se alia vontade consciente das mulheres, ignorando os processos
inconscientes que subjazem a fecundidade humana.
14
necessrio destacar que essa vontade consciente, entendida como um querer, mantm
uma grande distncia em relao ao desejo. Na teoria psicanaltica, o desejo , antes de
tudo, inconsciente, enquanto que o querer passa pelo crivo da conscincia. De acordo
com Lacan (1960b/1996), o desejo estaria situado no intervalo entre a demanda, que
um pedido endereado a outrem, e a necessidade, que meramente biolgica e se
satisfaz com um objeto real: o alimento, por exemplo. Pode-se dizer que o desejo incide
sobre uma fantasia e no tem uma representao prpria, em razo de ser metonmico e
se deslocar constantemente.
Levando em conta essa distino, pode-se lanar um outro olhar sobre a situao da
maternidade e a influncia da medicina da procriao. Como enfatiza Chatel (1995, p.
20), o que se percebe hoje em dia que o desejo foi rebatido sobre um querer, e a
contracepo mdica se tornou a principal arma da luta da liberao das mulheres, para
a realizao da vontade de ter filhos. Entretanto, como salienta esta mesma autora, a
ampla difuso dos contraceptivos e das informaes concernentes procriao no
evitou determinados acontecimentos, a exemplo do nmero alarmante de abortos. Isto
leva ao argumento de que as chamadas gestaes indesejveis no se reduzem a um
simples assunto de contracepo, mas a algo que est alm da deciso de ter ou no um
filho.
Chatel (1995) tambm observa que, se, por um lado, a contracepo mdica escamoteia
os motivos inconscientes que levam a uma gravidez, por outro, ela confere mulher uma
responsabilidade maior sobre a reproduo. De acordo com a autora, mtodos como o
coito interrompido e a camisinha implicam a participao masculina, enquanto que a
plula e o DIU atuam exclusivamente no corpo da mulher, deixando a deciso a seu cargo
e, tambm, a culpa, caso ocorra uma gravidez no planejada.
15
Percebe-se, portanto, que a questo da maternidade algo que permanece envolto em
uma aura de complexidade e mistrio, apesar dos grandes avanos tecnolgicos. Estimase que a psicanlise, enquanto teoria do inconsciente e, ao mesmo tempo, mtodo de
investigao dos processos psquicos e de tratamento de afeces nervosas, possa
fornecer elementos importantes para o entendimento desse tema. Esta perspectiva
mostrou-se relevante a partir de minha atuao como psicloga no Instituto de
Perinatologia da Bahia, IPERBA.
O IPERBA uma maternidade pblica de porte mdio localizada na cidade de Salvador,
BA, que atende diariamente cerca de 250 mulheres no setor de emergncia. Dentre estes
atendimentos, so realizados aproximadamente 30 partos por dia, alm da assistncia a
situaes de abortamento e a viabilizao da interrupo da gestao nos casos
previstos em lei. O IPERBA possui tambm ambulatrio para atendimento de pr-natal de
risco, planejamento sexual e reprodutivo, ginecologia, acompanhamento psicolgico etc.
O que chama a ateno que, at os dias atuais, o IPERBA o nico hospital no Estado
da Bahia oficialmente credenciado para realizar o chamado aborto legal, ou seja, nos
casos em que a gravidez resulta de estupro. Para tanto, segue as recomendaes
expressas na norma tcnica Preveno e Tratamento dos Agravos Resultantes da
Violncia Sexual contra Mulheres e Adolescentes (Brasil. Ministrio da Sade, 2005).
Este documento destaca que a palavra da mulher que diz ter sido violentada
sexualmente deve ser recebida pelos profissionais como presuno de veracidade (p.
42). Desse modo, a exigncia da apresentao de documentos que comprovem a
violncia, como o laudo do Instituto Mdico Legal e o Boletim de Ocorrncia, para o
atendimento nos servios de sade, considerada incorreta e ilegal.
16
Nesse ponto, faz-se necessrio definir o que presuno de veracidade. Para o senso
comum, presuno consiste no ato ou efeito de presumir(-se); opinio ou juzo baseado
nas aparncias; suposio, suspeita; vaidade, orgulho; pretenso; conforme expresso no
Dicionrio Aurlio1. No mbito jurdico, trata-se de uma conseqncia que a lei deduz de
certos atos ou fatos, e estabelece como verdade at que se prove o contrrio.
Veracidade, por sua vez, refere-se qualidade de veraz; veridicidade, verdade; apego
verdade.
Embora haja a recomendao da norma tcnica a respeito da presuno de veracidade,
sabe-se que, quando as pacientes so recebidas, os profissionais que as atendem
podem ser colocados em xeque, sendo levados a refletir, questionar, rever ou reafirmar
valores. Destaca-se que muitas situaes de violncia perduram por um longo tempo e
envolvem agressores que tm uma relao bastante prxima com as vtimas. H tambm
circunstncias que no so consideradas como violncia propriamente dita, mas nas
quais se percebe que o desejo da mulher subjugado e ela permanece alienada ao
desejo do outro. Interroga-se, portanto, por que sustentam essa posio.
A problemtica acima aponta para o masoquismo, conceito definido na teoria
psicanaltica como uma tendncia destrutiva que se dirige para o prprio eu 2 (Freud,
1905; 1919b; 1920; 1924a/1996). Em Sexualidade feminina, Freud (1933/1996)
estabelece uma relao entre o masoquismo e a feminilidade, afirmando que as
mulheres teriam uma tendncia ao desenvolvimento de impulsos masoquistas e estes
fariam parte da constituio feminina, sendo tambm impostos socialmente.
Novo Dicionrio Eletrnico Aurlio verso 5.0.
A edio das obras de Freud utilizada no presente trabalho apresenta um equvoco de traduo. Sabe-se
que as palavras alems ich, es e ber-ich, significam literalmente eu, isso e supereu, e no ego,
id e superego, termos estes que so utilizados na referida edio, mas que podem apresentar alguma
distoro da ideia original do autor. Por isso, optou-se, ao longo do trabalho, pela substituio da palavra
eu no lugar de ego.
2
17
O contexto apresentado serve, ento, como pano de fundo para que se ponham em
discusso os termos maternidade, verdade e feminilidade, pensando-se nas relaes
existentes entre eles. Vale sublinhar que a feminilidade, aqui entendida, est atrelada aos
planos imaginrio e simblico, sendo composta pelas identificaes que se organizam
em torno da falta do significante flico. A maternidade surgiria como um dos caminhos
possveis de construo da feminilidade, promovendo uma substituio do falo pela
criana. Com relao ao termo verdade, esclarece-se que este assume uma acepo
distinta da empregada pelo senso-comum, visto que considerada de acordo com a
singularidade e os desejos inconscientes pelos quais cada sujeito comandado, no
havendo, portanto, uma verdade absoluta.
O conceito de verdade supracitado est presente na psicanlise desde os seus
primrdios, quando Freud buscava a sua extrao a partir da fala de seus pacientes.
Sabe-se, no entanto, que esta no uma verdade absoluta, e sim uma verdade singular
que remete aos processos inconscientes. Com Lacan (1972-1973/1985; 1974/2003),
postula-se que a verdade no-toda, sendo possvel diz-la somente pela metade.
Tendo em vista tal concepo, a presuno de veracidade, na medida em que convoca o
olhar do outro, configura uma situao paradoxal. Para dar conta de tamanha anttese,
surge, ento, o recurso ao discurso mdico, que se constitui enquanto saber que tende a
ser totalizante, contrapondo-se dimenso da verdade em psicanlise, na qual o sujeito,
ao afirmar algo, pode neg-lo, e essas duas realidades coexistem sem contradio
(Freud, 1915/1996).
importante destacar que a psicanlise surge a partir do saber mdico. A partir da
escuta das histricas que apresentavam converses, Freud inaugura uma nova clnica,
fundamentada no tratamento pela fala das pacientes. Nesse momento, h uma mudana
18
de perspectiva, visto que elas no so mais consideradas apenas como objeto do olhar
mdico. A clnica da escuta instituda por Freud leva-o a encarar cada paciente histrica
como um sujeito singular3 (Montezuma, 2001).
Primeiramente, Freud (1896/1996) elabora a teoria da seduo para explicar a etiologia
da histeria. De acordo com esta teoria, a neurose estava associada ao abuso sexual da
criana por um adulto, prevalecendo a uma presuno de veracidade sobre a realidade
material. Porm, anos mais tarde, com a formulao da teoria da fantasia, percebe-se
que a origem da neurose se refere a uma verdade que no corresponde realidade
material, mas que singular e se relaciona a uma realidade psquica, onde a sexualidade
expressa por desejos e fantasias inconscientes (Freud, 1906/1996).
Como Soler (2005) declara, o acesso verdade singular do sujeito se faz por meio dos
ditos, durante a anlise. Segundo ela (p. 222), a fala, como que voltando sobre si
mesma, reduz toda verdade verdade da fala, ou seja, verdade que Lacan enunciou,
mas que todo analisando demonstra: o sujeito dividido.
Escutando a fala de algumas mulheres atendidas no ambulatrio do IPERBA, so
evidenciados os conflitos subjetivos vivenciados em torno da feminilidade e que apontam
para a diviso do sujeito. Suas palavras parecem girar ao redor da impossibilidade de
definio do que a mulher. Levando-se em conta o postulado lacaniano (Lacan, 1972-
O uso do termo singular, e no particular, tem aqui razes especficas. Segundo o dicionrio Aurlio
(Novo Dicionrio Aurlio verso 5.0), singular aquilo que se refere a um nico ser, apenas um indivduo da
espcie; particular, por outro lado, pode referir-se a um grupo de seres vivos que demonstram
caractersticas comuns entre si, mas distintas se comparados com outros. O psicanalista Srgio de Campos
(2009) afirma que possvel ao particular, diferente do singular, formar conjuntos de um sujeito com o
Outro, podendo se apresentar sob vrias modalidades, inclusive a do coletivo. A psicanlise no visa ao
particular, mas ao singular, pois objetiva trazer luz o modo privado de gozo do ser falante como o resto
absoluto, nico e irredutvel (Campos, 2009, p. 05). Pode-se da extrair uma distino entre a medicina e a
psicanlise: enquanto a primeira opera com o particular do conjunto, a segunda trabalha com o singular
absoluto.
19
1973/1985) de que a mulher a verdade e que ambas so no-todas, surge assim o
problema da pesquisa.
Na medida em que a diferena sexual no est restrita anatomia, a problemtica da
maternidade envolve no s o registro biolgico e da conscincia, mas tambm os
processos inconscientes. preciso, pois, que haja uma escuta desses processos
inconscientes para que a verdade de cada mulher possa advir, fazendo com que ela,
enquanto sujeito, se responsabilize por suas escolhas.
A pergunta que norteia a pesquisa em questo pode ser assim enunciada: De que
maneira os conceitos de maternidade, feminilidade e verdade, extrados das teorias
freudiana e lacaniana, podem ser correlacionados dimenso dos desejos inconscientes
singulares de cada mulher? O presente trabalho se prope a abordar esta questo,
partindo do vis psicanaltico das teorias de Freud e Lacan, e apresentando o estudo de
trs fragmentos de casos clnicos. Esses casos foram selecionados por retratarem
posies subjetivas bastante peculiares de algumas mulheres frente aos impasses
provocados pela maternidade, sendo tomadas mais atentamente para anlise algumas
frases ditas por elas.
O primeiro caso, que aqui leva o nome de Accia 4, trata do processo analtico de uma
jovem que, apesar de ter uma filha, diz no sentir-se me e parece fazer uma tentativa de
denegar essa maternidade, na medida em que evita desempenhar algumas funes
relativas ao manejo com a criana e, s vezes, no se lembra que tem um beb. No
segundo caso, Hera, refere-se a uma mulher adulta que vivenciou a perda de uma filha
recm-nascida e que traz a possibilidade de uma nova gravidez como algo que forneceria
sentido sua existncia. O terceiro caso, nomeado de Rosa, nos apresenta uma mulher
4
Visando a preservao do sigilo e o anonimato das pacientes, foram escolhidos nomes fictcios. Todos os
trs nomes referem-se a tipos de plantas, elementos que comumente esto associados ao sexo feminino.
20
dividida com relao maternidade: ela adota uma menina e dispensa-lhe todo afeto
possvel; no entanto, quando se descobre grvida, busca atendimento psicolgico por
no conseguir estabelecer um lao afetivo com o beb que est esperando.
Longe de sugerir qualquer forma de reducionismo ou enquadramento a partir desses
casos, o que se pretende fornecer elementos que respaldem a anlise das formas
possveis de se compreender as questes da maternidade e da feminilidade. Se, de
acordo com a frase de Lacan (1972-1973/1985, p. 98), A mulher no existe, por no
haver um significante que a represente de modo universal, as mulheres, estas sim, que
reafirmam a todo momento a sua existncia, s podem ser tomadas em conta uma a
uma.
O objetivo geral desta pesquisa examinar a produo psicanaltica sobre a
maternidade, a feminilidade e a verdade, em Freud e Lacan, correlacionando estes
conceitos dimenso dos desejos inconscientes e da singularidade do tornar-se me e
mulher. Com esse intuito, busca-se alcanar os seguintes objetivos especficos: examinar
os conceitos de maternidade e feminilidade nas teorias freudiana e lacaniana; analisar o
tornar-se mulher a partir das frmulas da sexuao propostas por Lacan; e descrever o
as noes de mulher e verdade segundo a concepo lacaniana de que ambas so notodas (Lacan, 1972-1973/1985).
Aps a abordagem destas questes preliminares, encontra-se no prximo item uma
reviso de literatura, resumindo as principais contribuies da atualidade sobre a
temtica da pesquisa.
21
1.2. REVISO DE LITERATURA: CONTRIBUIES DA ATUALIDADE
Maternidade e feminilidade so temas que vm sendo estudados por alguns autores da
atualidade no campo da psicanlise, e muitos deles aliceram suas ideias nas teorias de
Freud e Lacan. Inicialmente, cabe destacar os artigos de Teixeira (1991; 2007; [2009?a];
[2009?b]), autor de A feminilidade na psicanlise e outros ensaios (1991). Para este
psicanalista, s possvel falar de homem/mulher, masculino/feminino desde que seja
ultrapassado o mbito do real do organismo e se recorra ao que Freud chamou de
conseqncias psquicas da distino anatmica entre os sexos. Assim, so os
elementos simblicos e imaginrios que situam cada sujeito na constituio da
identificao sexual.
Levando em conta a primazia do significante flico, apontada por Lacan, Teixeira (1991;
[2009?b]) enfatiza que os seres falantes no experimentam a anatomia e os fenmenos
fisiolgicos no seu estado bruto, mas mediados pela linguagem, simbolizados. assim
que, na sada do dipo, a menina atrada pelo falo, voltando-se para o corpo de um
homem, uma das vias para a feminilidade descritas na teoria freudiana.
Como este autor observa, a menina pode, na dissoluo do complexo de dipo, encurtar
o percurso que passa da identificao ao pai para a identificao me, identificando-se
imaginariamente com o genitor. Disso resulta uma posio estrutural: a histeria, que vai
motiv-la numa atitude reivindicatria, uma demanda perene de reconhecimento
simblico que pode se manifestar atravs de um comportamento sacrificial (Teixeira,
1991; 2007).
22
No que se refere maternidade, outro caminho possvel para o acesso feminilidade,
Teixeira (1991; 2007; [2009?b]) acrescenta que, mesmo em busca de uma realizao
flica com a gravidez, a mulher percebe que, uma vez nesse lugar, ela s reconhecida
enquanto me, mas no por seus atributos de mulher.
Alguns artigos exploram questes relativas ao complexo de dipo na menina e as
contradies entre a maternidade e a feminilidade. Lamy (1995), por exemplo, afirma
que, dentre as trs sadas para o complexo de dipo propostas por Freud: a
masculinidade, a inibio sexual e o desejo de ter um filho, esta ltima, embora no
represente em si uma recusa castrao, tambm no conduz identificao feminina,
pois maternidade no sinnimo de feminilidade. Assim, a autora supracitada aponta
que a maternidade , em realidade, uma sada flica que, na perspectiva freudiana,
fornece mulher uma soluo identificatria, o fato de ter um filho leva-a a ser me.
Trazendo tambm algumas ideias lacanianas, Lamy (1995) coloca que identificao com
o falo, ou seja, colocar-se como falo para um homem, pode ser uma sada para o dipo
feminino. Por fim, ela conclui que o feminino se define paradoxalmente por uma nodefinio, estando fadada ao fracasso qualquer identificao pela via do significante e
cabendo mulher defrontar-se com essa impossibilidade de definio.
Borsoi (1995) reafirma que a tentativa de recobrir a falta com a maternidade tende ao
fracasso, acrescentando que essa tentativa visa a uma passagem pnis = beb, sem
renncia ao falo. A gravidez pode fornecer a iluso de preencher o que falta mulher, no
entanto, mesmo recoberta, essa falta no se extingue. Para Borsoi, ento, a mulher s se
constri a partir de um longo trabalho psquico, justamente por ser definida atravs de um
significante faltoso.
23
A partir das concepes freudiana e lacaniana sobre a feminilidade, Grant (1998) aborda
a relao entre a mulher e o conceito de mascarada, inaugurado por Rivire (1929,
citado por Grant, 1998). Expondo um caso clnico de uma mulher com todas as
caractersticas de uma feminilidade considerada normal, seu artigo discute a imbricao
do feminino e do masculino, bem como a questo do gozo flico e do Outro gozo,
propostos por Lacan. Conclui, ento, que o fracasso da sustentao flica abre acesso
ao Outro gozo, na medida em que h a rejeio de uma parte da feminilidade, mas em
que esta tomada como vu que recobre o horror do vazio deixado pela falta do
significante flico.
Em Michels (2001), encontra-se uma discusso em torno da feminilidade nos dias de
hoje, a partir da abertura discursiva introduzida por Freud nos seus estudos sobre a
histeria. Aps uma explanao sobre a posio feminina e sua relao com a castrao,
o autor apresenta um recorte clnico no qual se evidencia a funo simblica de uma me
e a transmisso da posio feminina atravs da nomeao. Por fim, Michels (2001)
apresenta a ideia de que, com a aceitao da castrao simblica, a posio feminina
constitui uma descontinuidade que produz uma flexo do nome, dando lugar a outra
verso deste.
O artigo de Gomes e Fernandes (2002), intitulado A feminilidade e o inconsciente,
debate a questo da feminilidade na psicanlise, tocando algumas de suas mltiplas
dimenses: o tornar-se mulher, a maternagem, a relao com o sexo oposto e com o
prprio sexo, e o objeto do desejo feminino. O caso Dora indicado como um marco
para as formulaes de Freud sobre o papel central da sexualidade no problema das
neuroses e para o delineamento de uma teoria em torno da feminilidade.
24
Estes autores destacam que Lacan atribui uma dimenso significante ao falo,
considerando-o um elemento simblico que direciona a incompletude humana para o
mbito da linguagem. Inferem ento que, na tica dos tericos freudo-lacanianos, o falo
se situa ao nvel do desejo, sendo neste patamar que ele se apresenta ao feminino. H,
porm, uma advertncia, pois o objeto do desejo feminino no equivale ao objeto do seu
querer ou do seu amor. Enfim, aps um apanhado das crticas sobre a primazia do falo
na teoria freudiana, Gomes e Fernandes (2002) concluem que tratar da feminilidade
lidar com a heterogeneidade e imergir no prprio campo da psicanlise, na medida em
que esta se constitui enquanto saber originado do singular.
Contribuies importantes sobre a maternidade e a feminilidade so trazidas tambm por
Cristina Marcos (2007). Expondo algumas figuras femininas da obra de Clarice Lispector,
seu artigo parte de interrogaes sobre o que, da maternidade e da gestao, no se
reduz ao falo. Essas figuras demonstram, assim, algo de incomensurvel e impossvel de
simbolizar na mulher. Ao invs de recobrir um furo, a maternidade pode acabar
denunciando-o. Para Marcos (2007), as personagens de Clarice Lispector fazem pensar
que a maternidade se divide em dois gozos: o flico e o suplementar.
Seguindo essa direo, a autora finaliza afirmando que mesmo a maternidade, modo
geralmente privilegiado de acesso ao gozo flico, pode tambm ser tomada como via
para um outro gozo, feminino, pois carrega em si algo do real que resiste apreenso
pelo simblico, a criana tornando presente uma face desconhecida impossvel de se
escrever.
Ainda na interface entre psicanlise e literatura, pode-se citar o artigo de Patrasso e
Grant (2007). Partindo da questo enunciada por Freud e retomada por Lacan, o que
quer uma mulher?, esses autores abordam algumas das diferentes maneiras pelas
25
quais, no sculo XIX e na contemporaneidade, se tentou responder ao enigma do
feminino. Desse modo, elegem duas produes literrias: Madame Bovary (Flaubert,
1856/1971, citado por Patrasso & Grant, 2007) e Aritmtica (Young, 2004, citado por
Patrasso & Grant, 2007) para estabelecer suas articulaes.
Posterior a um percurso pelo cenrio da mdia, da moda e inclusive dos diagnsticos,
todos tomados como produtos que impelem a mulher contempornea a um consumo
frentico, Patrasso e Grant (2007) recorrem afirmao lacaniana de que a verdade,
assim como a mulher, no-toda. Desse modo, defendem que elas, hoje ocupando os
mais diversos espaos, se faam escutar e construam verses daquilo de que no
podem falar.
Diante do exposto, ressalta-se que a pesquisa aqui proposta tem sua relevncia
justificada por trazer uma articulao em torno da verdade em psicanlise, conceito ainda
pouco abordado quando se tratam as questes da maternidade e da feminilidade.
Embora o nmero de estudos sobre o tema seja significativo, espera-se que esta
articulao, bem como a apresentao dos casos clnicos, possa enriquecer o debate
sobre a singularidade do tornar-se me e mulher, chamando ateno para a necessidade
de insero da dimenso subjetiva no estudo e no tratamento das questes relacionadas
ao feminino.
Aps esta reviso de literatura, prossegue-se com uma explanao a respeito do estudo
de caso, estratgia de investigao comumente utilizada em pesquisas qualitativas, e
algumas contribuies sobre a pesquisa em psicanlise. Essa explanao se torna til
para situar o desenho metodolgico do presente estudo.
26
1.3. ESTUDO DE CASO E PESQUISA EM PSICANLISE
No intuito de situar o mtodo do presente trabalho, necessrio fazer algumas
consideraes acerca da pesquisa em psicanlise e da pesquisa no mbito universitrio.
Embora atualmente a psicanlise se encontre bastante disseminada no ambiente da
universidade, originalmente as concepes de saber apresentadas por estes dois
segmentos guardavam algumas divergncias. Desde o seu surgimento, a teoria
psicanaltica postula a existncia de uma hincia do saber, o que permite a emergncia
do sujeito do inconsciente. Desse modo, manifestou crticas pretenso de tudo-saber e
ao discurso hermtico da cincia tradicional, discurso este que esteve muito presente no
campo universitrio, pelo menos at o sculo XIX (Lacan, 1969-1970/1992).
Em 1913/1996, Freud postula que a psicanlise se constitui, ao mesmo tempo, enquanto
mtodo de investigao e de tratamento. Anos mais tarde, ele (Freud, 1919a/1996) traz
em discusso o ensino e a pesquisa da psicanlise na universidade. Discorrendo acerca
do ensino psicanaltico para estudantes de medicina, Freud (1919a/1996), afirma que,
assim como a formao universitria no prepara o estudante da rea mdica para ser
um cirurgio habilidoso, a psicanlise propriamente dita s pode ser aprendida com uma
prxis. Entenda-se por prxis algo que designa uma ao realizada pelo homem,
qualquer que ele seja, que o pe em condio de tratar o real pelo simblico, como
aponta Lacan (1964/1998, p. 14), acrescentando ainda que a prxis delimita um campo
(p. 15).
O ensino da psicanlise na universidade apresenta algumas limitaes, haja vista que as
oportunidades de efetivar experincias ou demonstraes prticas so bastante restritas
neste ambiente. No entanto, pode-se aprender algo sobre a psicanlise ou a partir dela.
27
Assim, numa pesquisa sobre a psicanlise, parte-se de conceitos psicanalticos para
estabelecer uma articulao com uma situao dada em um contexto diverso, enquanto,
numa pesquisa a partir da psicanlise, parte-se do mbito clnico em que ela o prprio
mtodo de tratamento utilizado (Freud, 1919a/1996).
Derivando desta concepo, Figueiredo, Nobre e Vieira (2001) afirmam que a proposta
da pesquisa clnica em psicanlise no se limita apenas a constituir um saber sobre a
psicanlise em seus fundamentos tericos, mas tambm a partir da clnica psicanaltica.
A prpria juno entre teoria e prtica s pode ser realizada no exerccio permanente da
clnica, onde os pressupostos tericos que a fundamentam podem ser postos prova
(Figueiredo, Nobre e Vieira, 2001, p. 12).
Sauret (2003), por outro lado, enumera diferentes tipos ou formas de pesquisa em
psicanlise. Dentre eles, situa-se aquela que direcionada pelo saber e pela tica da
psicanlise, porm difere-se da pesquisa psicanaltica propriamente dita, ou seja, aquela
praticada por psicanalistas como Freud e Lacan. A pesquisa que se apia sobre a
psicanlise ou orientada por esta teoria seria o tipo mais freqente no contexto
universitrio.
No presente trabalho, parte-se do contexto clnico para articul-lo teoria psicanaltica,
enquadrando-se, pois, neste tipo de pesquisa descrito por Sauret (2003). atravs da
constatao de que a verdade surge na singularidade de cada sujeito que se tem o ponto
de partida para o desenvolvimento das ideias aqui retratadas.
Deve-se levar em conta que o objeto de pesquisa em psicanlise no pode ser verificado
atravs da observao direta, por tratar-se do inconsciente, ou melhor, das
28
manifestaes do inconsciente. Sendo assim, conforme Ceccarelli (2001 5), do ponto de
vista da psicanlise, a realidade psquica, ou o subjetivo, o seu objeto de pesquisa,
tendo o mesmo valor do objeto de pesquisa das cincias naturais. Para a psicanlise, a
realidade psquica possui, na subjetividade de quem a anuncia, uma certa realidade.
O acesso realidade psquica do sujeito se faz possvel somente atravs da fala, por
isso, como afirma Sauret (2003, p. 97), no h pesquisa clnica sem encontro que
mobilize a palavra. Dizendo de outra maneira, o mtodo numa pesquisa de base
psicanaltica deve ter como ponto de partida a linguagem, pois atravs dela que se
pode vislumbrar a verdade.
Nogueira (2004) parece corroborar esse pensamento ao declarar que uma pesquisa
analtica s possvel se h o estabelecimento de uma relao propriamente analtica,
isto , uma relao transferencial. De fato, desde Freud (1912/1996) j se sabia que a
transferncia, apesar de constituir tambm uma resistncia, considerada motor da
anlise, visto que promove a expresso dos desejos inconscientes do sujeito.
Na pesquisa em questo, so utilizados fragmentos de casos clnicos nos quais os
princpios da prxis psicanaltica se encontram presentes. Na medida em que estes
casos abordam a problemtica da pesquisa, permitem a articulao aos conceitos de
maternidade, verdade e feminilidade, tomados sob o vis das teorias de Freud e Lacan.
Ressalta-se que, atravs da prtica clnica, torna-se evidente a relao entre a verdade e
a singularidade, ou seja, por meio da fala se revelam as verdades que, de fato, so
singulares para cada mulher. Isso justifica o uso da psicanlise e, especialmente, das
teorias freudiana e lacaniana, visto que valorizam a realidade psquica e o carter
indizvel da verdade do inconsciente.
5
Como o documento utilizado foi do tipo eletrnico, no foi possvel situar a pgina em que se localiza a
frase.
29
Os recortes de casos clnicos retratam os impasses vivenciados por trs mulheres frente
ao tema da maternidade. A escolha destes casos est atrelada ao fato de que eles
retratam posies subjetivas bastante peculiares e, assim, podem fornecer elementos
relevantes para se pensar a questo do tornar-se me como um dos caminhos para a
constituio da feminilidade, deixando entrever que este caminho no predeterminado
e depende da singularidade de cada mulher.
Cabe mencionar que as pacientes s quais se referem os casos clnicos buscaram
atendimento psicolgico no ambulatrio do IPERBA em momentos bem distintos de suas
vidas. Accia havia parido h poucos meses e participava do programa de planejamento
sexual e reprodutivo; Hera estava fazendo um tratamento ginecolgico; e Rosa
encontrava-se em acompanhamento pr-natal. Ressalta-se que, na instituio, o
encaminhamento para o setor de psicologia ocorre a partir da solicitao de algum
profissional que detecte a necessidade de atendimento psicolgico, como no caso de
Rosa, ou por solicitao da prpria paciente, como ocorreu com Hera e Accia.
Assim sendo, foram iniciados os atendimentos. Aps cada sesso, ocorria o registro dos
contedos principais manifestados pelas pacientes, o que serviu de base para a
articulao com os conceitos da pesquisa. Este mtodo se aproxima do que proposto
por Nogueira (2004) na construo de um caso clnico. O autor sugere o seguimento de
trs nveis distintos: 1) o nvel da descrio; 2) o da conceituao; e 3) o nvel matmico.
O primeiro consiste na passagem do evento ocorrido para a linguagem escrita. No
segundo nvel, h uma articulao entre o que foi investigado e um conjunto terico
conceitual. J no terceiro, ocorre uma formalizao da construo do caso, na medida
em que os conceitos psicanalticos so representados por smbolos abstratos, como nas
frmulas expostas ao longo das obras lacanianas.
30
Nesse ponto, no entanto, cabe fazer uma ressalva. que, embora o nvel matmico
pressuponha o uso de smbolos universais, o fato de agregar um vis subjetivo aos
dados da investigao, tratando de uma experincia singular para cada sujeito, faz com
que a pesquisa em psicanlise no seja muito adequada s generalizaes. Isso no
impede que sejam encontrados certos elementos que se repetem (Figueiredo, Nobre e
Vieira, 2001).
importante ressaltar que, em respeito Resoluo n. 196, de 10 de outubro de 1996,
que determina as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos, bem como ao Cdigo de tica profissional do psiclogo, publicado em agosto
de 2005, foram tomadas todas as medidas necessrias para garantir a tica e a
idoneidade da pesquisa, em especial a preservao do sigilo e o anonimato das pessoas
envolvidas. Assim, o projeto de pesquisa foi submetido avaliao e aprovao do
Comit de tica de Pesquisa em Cincias Humanas (CEP-CH) da Universidade Federal
da Bahia (UFBA).
No item subseqente, encontram-se os fragmentos de casos que foram tomados como
ponto de partida para o desenvolvimento da pesquisa. Seguindo o exemplo de Soler
(1991), foram suprimidos alguns dados da biografia das pacientes, posto que estes se
tornam suprfluos para a compreenso da temtica e podem conduzir o trabalho ao
equvoco da indiscrio.
31
1.4. TRS MULHERES E VRIOS DESTINOS
Embora a anatomia possa deixar marcas indelveis no psiquismo de cada sujeito, sabese que este fator isoladamente no determina o destino de uma mulher. Analisando as
frases extradas das falas de trs pacientes acompanhadas no ambulatrio do IPERBA,
percebemos os diversos percursos dessas mulheres na construo de sua feminilidade.
Vale ressaltar que todas elas buscam o atendimento com alguma queixa relacionada
questo da maternidade, seja um desejo insatisfeito de ser me ou uma maternidade que
se concretiza na realidade, mas que no sentida como tal. De uma maneira ou de
outra, a maternidade se coloca, para essas mulheres, como insatisfatria, insatisfao
em torno da qual elas falam sobre seus verdadeiros desejos. Apresentam-se a seguir os
fragmentos da histria clnica destas pacientes, destacando-se alguns enunciados por
elas proferidos.
O primeiro fragmento de caso clnico refere-se a Accia. Jovem adulta, solteira, que
busca atendimento quando sua filha conta quase dois meses de idade. Revela que a
gravidez no fora desejada e que pensou em dar a filha para adoo, mas depois
desistiu da ideia. Embora tenha permanecido com a criana, a principal cuidadora dela
a av materna. A paciente relata histrico de crises convulsivas, depresso, tentativas de
suicdio, amnsia. Afirma no ter esprito de me (sic.) e acrescenta que, em alguns
momentos, esquece completamente que tem uma filha. Assim, ela enuncia: Eu no sou
me, eu s pari (sic.).
Hera, por sua vez, uma mulher adulta, em unio estvel, que, ao buscar atendimento
psicolgico, se mostra bastante chorosa e deprimida. Ela no tem filhos, mas havia
32
vivenciado um aborto provocado durante a juventude. Alm disso, relata ter perdido um
beb recm-nascido, do sexo feminino, que nascera prematuro. Esta perda, ocorrida
alguns meses antes do incio das sesses e sempre manifesta atravs de muita angstia,
o que a mobiliza a procurar atendimento psicolgico, sendo a expectativa de uma nova
gravidez apontada como evento que aplacaria seu sofrimento.
Cabe ressaltar que Hera demonstra ter uma relao bastante prxima com uma
sobrinha, entretanto, quando um outro familiar lhe entrega uma boneca para que ela d
de presente esta sobrinha, a paciente no o faz, e justifica com o seguinte enunciado:
Ela to bonita que eu quis ficar pra mim (sic.).
O terceiro recorte de caso clnico sobre Rosa. Ela uma mulher adulta, solteira, que
engravida num perodo de sua vida em que no pensava em ser me. Sem o apoio do
parceiro e encarando a gravidez como um evento indesejado, Rosa cogita a
possibilidade de um aborto, entretanto, opta por seguir adiante com a gestao, mesmo
conservando certo sentimento de inadequao, j que no consegue estabelecer um
lao afetivo com a criana que est esperando. nesse momento que ela chega para
dar incio ao seu processo analtico. Comentando sobre a forma como se refere ao filho,
profere, ento, a seguinte frase: Ele veio sem ser chamado (sic.).
Pressupondo que os enunciados manifestam algo da singularidade dessas mulheres,
empreendemos algumas reflexes, que sero expostas e articuladas com os conceitos
psicanalticos desenvolvidos nos prximos captulos. A seguir, so expostas as ideias
principais a respeito do lugar da mulher e da me na teoria psicanaltica. Este captulo
est subdividido em trs itens: o primeiro, apresenta os conceitos de feminilidade e
maternidade nas obras de Freud e Lacan; o segundo, explora a diferena entre a mulher
e a histrica; e o terceiro, aborda a questo da mscara da feminilidade.
33
O captulo trs trata da questo da verdade como algo indizvel, sendo subdividido em
dois itens: a verdade em psicanlise e sua relao com a mulher; e a verdade nos
discursos da psicanlise. Por fim, so tecidas as consideraes finais, que fazem um
apanhado geral das ideias aqui retratadas, apontando tambm perspectivas futuras de
trabalho.
34
2. A MULHER E A ME NA PSICANLISE
2.1. FEMINILIDADE E MATERNIDADE DE FREUD A LACAN
As mulheres sempre tiveram um papel de destaque na teoria psicanaltica. De fato, como
afirma Soler (2005, p. 09), Freud no teria inventado a psicanlise sem a amvel
colaborao das histricas. Entretanto, mesmo depois de se dedicar por trs dcadas
investigao da alma feminina, o prprio Freud acaba admitindo sua impotncia em
fornecer uma explicao que abarcasse toda complexidade existente nas mulheres. Em
carta princesa Marie Bonaparte, ele diz que a grande pergunta para a qual nunca
achou resposta foi: O que quer a mulher?, como relata Rodrigu (1995, citado por
Patrasso & Grant, 2007), em sua biografia sobre o pai da teoria do inconsciente.
Esta interrogao foi mais tarde retomada por Lacan (1972-1973/1985), modificando-a:
O que quer uma mulher?. A substituio do artigo definido pelo indefinido possibilita,
segundo Andr (1987), o questionamento sobre a existncia de uma natureza feminina,
uma verdade fixa e comum a toda mulher: Seria possvel encontrar uma chave-mestra
para decifrar as mulheres ou elas s poderiam ser escutadas no caso a caso?
Faz-se til explicitar as distines entre os termos mulher, feminino e feminilidade.
Primeiramente, destaca-se que a definio de um sujeito como homem ou mulher remete
a um corpo anatmico e pertence ordem do real. As caractersticas derivadas do sexo
biolgico, juntamente com os valores e atributos culturais, interagem para formar o
conceito de gnero. Este, por sua vez, pode ser atrelado posio do sujeito no
discurso, que se situa numa ordem simblica. Posicionando-se enquanto sujeito ou
35
objeto do discurso, bem como em relao ao desejo de um semelhante, o ser falante
assume um carter masculino ou feminino (Kehl, 2008).
A feminilidade surge no plano imaginrio, palco no qual desfilam as identificaes que
estruturam o eu e as estratgias singulares de cada sujeito frente ao trinmio falo-faltadesejo. Desta forma,
Acreditar-se portador de um falo, por exemplo, e desejar com isto satisfazer e
completar aquela cujo corpo parece garantir que a castrao est s do lado das
mulheres, uma composio tpica da masculinidade. J a feminilidade, costuma
organizar-se em torno do imaginrio da falta; na feminilidade, a mulher no tem o
falo; ela se oferece para ser tomada como falo a partir de um lugar de falta
absoluta, do qual s o desejo de um homem pode resgat-la (Kehl, 2008, p. 10-11).
Pode-se dizer que uma das contribuies freudianas de maior importncia para a
compreenso do tornar-se mulher foi a formulao de que a diferena anatmica entre os
sexos no corresponde necessariamente a uma diviso no aspecto inconsciente. Depois
de Freud, outros autores se aventuraram por esse campo, a exemplo de Hlne Deutsch,
Ernest Jones e Karen Horney. Mas foi Lacan (1958a; 1960a/1996) que, partindo da
dialtica falocntrica inaugurada por Freud, deu um salto terico para situar a mulher em
um Outro gozo. Tomando o falo como significante do desejo, a teoria lacaniana postula
que homens e mulheres esto inseridos em um jogo simblico e que o feminino est
intimamente ligado forma de lidar com a castrao.
Nos escritos freudianos dos anos 1920-1930, encontra-se a ideia de que, no
inconsciente, a distino entre os sexos no se d entre homem e mulher, mas sim entre
flico e no-flico. Alm disso, o fato de no existir, do lado feminino, um elemento
simblico que o represente, como o falo do lado masculino, provoca uma dissimetria
entre essas figuras (Teixeira, [2009?a]).
Dois casos clnicos de Freud so considerados emblemticos para o tratamento da
feminilidade: Fragmento da anlise de um caso de histeria (1905a/1996), mais
36
conhecido como o caso Dora, e A psicognese de um caso de homossexualismo numa
mulher (1920b/1996). No primeiro, tem-se uma jovem com sintomas de tosse nervosa e
afonia, cujas origens remontam ao recalque de desejos sexuais. Na poca da publicao
deste caso, Freud (1905a/1996) estabelece uma relao entre os sintomas histricos de
Dora e a paixo que ela sentia pelo Sr. K, paixo esta que ela insistia em recusar. Alm
disso, destaca a intensa ligao da moa com seu pai e a identificao com suas duas
mulheres: sua me, a quem ele amou no passado, e a Sra. K, que ele amava no
presente.
Em determinado momento do texto, Freud (1905a/1996) tambm chama ateno para o
fato de Dora demonstrar um impulso de cime cujo objeto era a Sra. K, denotando uma
inclinao homossexual por parte da paciente. Supe-se, desta forma, que Dora
pretendia no s suprimir um amor, antes consciente, pelo Sr. K, mas tambm sua
atrao inconsciente pela Sra. K. Assim, Dora invejava o pai pelo amor da Sra. K e...
no perdoava mulher amada a desiluso que ela lhe causara com sua traio (Freud,
1905a/1996, p. 66).
Segundo Andr (1987), o que ocorre com Dora no uma homossexualidade
propriamente dita, mas sim uma homossexuao, na medida em que ela se identifica
com um homem seu pai e supervaloriza a Sra. K como encarnao da feminilidade
em si. Assim, ela pretende alcanar a dimenso do desejo desse homem em relao a
esta mulher e, assim, descobrir o valor que uma mulher recebe no desejo um homem.
Tendo demarcado a posio da Sra. K do ponto de vista do homem, Dora conclui que
gostaria de ser amada por um homem, e em primeiro lugar por seu pai, como a Sra. K
amada por ele (Andr, 1987, p. 151). Em resumo, a identificao de Dora com o pai,
37
apesar de, a princpio, dar a impresso de que ela tem inclinaes homossexuais, , em
realidade, o caminho que ela encontra para buscar a feminilidade.
Um aspecto relevante de se observar no caso Dora diz respeito transferncia, definida
por Freud (1905a/1996) como um tipo especial de formao de pensamento que tem
origem inconsciente e que se caracteriza pela substituio de uma pessoa anterior pela
figura do analista. Na transferncia, experincias prvias so revividas, no como algo do
passado, mas como se fizessem parte do vnculo atual constitudo em anlise. Freud
(1905a/1996) percebe que Dora atualiza, diante dele, a relao que mantinha com o pai
e tambm com o Sr. K, no entanto, ele reconhece que sua dificuldade em manejar a
situao acaba culminando na interrupo do tratamento. Diz ele:
Assim, fui surpreendido pela transferncia e, por causa desse x que me fazia
lembrar-lhe o Sr. K, ela se vingou de mim como queria vingar-se dele, e me
abandonou como se acreditara enganada e abandonada por ele. Assim, ela atuou
uma parte essencial de suas lembranas e fantasias, em vez de reproduzi-las no
tratamento (Freud, 1905a/1996).
No caso da jovem homossexual, uma moa levada anlise aps uma tentativa de
suicdio ocorrida logo aps ser flagrada pelo pai em companhia de uma dama mais velha
por quem ela demonstrava sentimentos amorosos. O comportamento da jovem para com
seu objeto amoroso apresentava caractersticas tipicamente masculinas, inclusive a
preferncia em ser a amante e no a amada, e a necessidade de tornar pblica a sua
corte em relao dama, causando constrangimento na famlia, principalmente ao pai
(Freud, 1920b/1996).
Com o decorrer da anlise, Freud (1920b/1996) percebe que a amada era, na realidade,
uma substituta da figura materna. Nota-se que justamente no momento em que a me
da jovem fica grvida novamente que ela passa a manifestar mais claramente sua
inclinao homossexual. Revivendo o dipo infantil, a gestao da me sentida como
um desapontamento diante do desejo de ter um filho de seu pai.
Ressentida e
38
amargurada, a jovem se afasta dos homens e passa a relacionar-se com outra mulher, o
que pode ser interpretado como uma tentativa de mostrar ao pai que possvel amar um
ser que no possui o falo.
Esse afastamento da jovem homossexual em relao aos homens notado por Freud
(1920b/1996) inclusive durante o curso da anlise, atravs da transferncia. Segundo
ele, embora primeira vista parecesse que nenhum sinal de transferncia houvesse se
estabelecido, ela estava presente e se manifestava por meio de um repdio, reforado
por uma tentativa de aferrar-se doena e tornar fteis as intervenes do analista. Isso
leva Freud (1920b/1996) a sugerir aos pais da jovem que procurassem dar
prosseguimento ao seu processo teraputico com uma analista mulher.
Nota-se que Accia apresenta caractersticas em comum com estes dois casos
estudados por Freud (1905a; 1920b/1996). Assim como Dora e a jovem homossexual,
ela demonstra impulsos homossexuais, os quais so revelados atravs do seu prprio
discurso, quando afirma sentir atrao por parceiras do mesmo sexo, e tambm pela
relao transferencial desencadeada em anlise. Desde o incio do seu processo
analtico, Accia emociona-se ao falar sobre uma moa com quem teve um
relacionamento na adolescncia. Ao relatar alguns de seus sonhos, afetos semelhantes
se manifestam, mas desta vez so dirigidos analista, em funo da transferncia.
Conforme visto no caso Dora, a homossexualidade pode ser um dos caminhos pelo qual
adentram algumas mulheres em busca de uma resposta para o enigma da feminilidade.
Assim, questiona-se: Accia seria de fato homossexual ou a inclinao em relao a
parceiras do mesmo sexo consistiria apenas numa tentativa de encontrar uma sada para
os impasses da feminilidade?
39
Os casos de Freud (1905a; 1920b/1996) evidenciam que a inclinao homossexual
presente em uma mulher geralmente tem suas razes nas relaes parentais. Com
Accia, isso no diferente; diversos relatos durante as sesses deixam transparecer
sua identificao figura paterna. Embora a paciente possa se envolver com parceiros
de ambos os sexos, quase no impondo limites com relao s suas experincias
sexuais, o que levaria a pensar na direo de uma indefinio da escolha de objeto, notase que as relaes que mantm com mulheres e com homens se configuram de maneira
distinta.
Com os parceiros masculinos, Accia tem uma conduta desafiadora; ela parece se
envolver com um grande nmero de homens na inteno de mostrar-lhes que nenhum
deles capaz de saci-la totalmente. Com as mulheres, no entanto, ela tende a assumir
a postura de amante, cortejando e entregando-se de maneira excessiva. Como afirma
Soler (2005, p. 36), se a homossexual rivaliza como sujeito com o homem, com a
inteno... de exaltar a feminilidade, exceto que ela a localiza do lado de sua parceira e,
por conseguinte s participa dela por procurao. Qualquer semelhana entre Accia e
a jovem homossexual de Freud (1920b/1996), portanto, no mera coincidncia.
Grant (2002), em artigo sobre a homossexualidade feminina, comenta que uma relao
amorosa entre duas mulheres se distingue significativamente de uma relao
homem/mulher no que diz respeito ao investimento da imagem flica. Enquanto, no
parceiro homem, o significante do desejo feminino se localiza no pnis, na parceira
mulher, toda sua imagem revestida do significante flico, ou seja, deseja-se a imagem
da parceira por inteiro, que acaba por assumir o papel de fetiche (Grant, 2002, p. 143).
A autora se vale das ideias retratadas por Lacan (1960a) para acrescentar que a
homossexual mulher demonstra uma dedicao extrema ao gozo de sua parceira, ela
40
escrava do gozo d Outra e, deste modo, desafia o homem, dando aquilo que no tem.
Accia, de fato, demonstra certa devoo em relao sua parceira da adolescncia.
Em algumas sesses, chega a comentar que fizeram pactos (sic) e que, mesmo aps
anos de rompimento do relacionamento, no encontrou outra parceira altura.
Em 1924b/1996, Freud formaliza a ideia da expectativa de gravidez como uma sada
considerada normal para o complexo de dipo na menina. Segundo ele, no sexo
feminino, o clitris se comporta inicialmente de maneira anloga a um pnis, no entanto,
quando h uma comparao com o sexo oposto, a garota percebe que se saiu mal e se
sente injustiada. Por algum tempo, a esperana de que seu clitris cresa e seja
equiparado ao membro do menino persiste, at que comea a acreditar que possuiu um
pnis em poca anterior, mas o perdeu por meio da castrao.
O desejo de dar luz um beb, filho do prprio pai, seria uma tentativa de compensao
pela renncia ao pnis, na medida em que ocorre um deslizamento, ao longo de uma
linha de equao simblica, substituindo o pnis pelo beb. Permanecendo enraizado no
inconsciente da mulher, esse desejo seria de extrema importncia para prepar-la no
desempenho do seu papel de me (Freud, 1924b/1996). Como afirma Chatel (1995, p.
47), segundo Freud, este apelo edipiano da filha ao pai benfico e estruturante, ele
que faz a feminilidade.
Poder-se-ia afirmar que o desejo de ter um beb est presente em Hera, o que
reforado pela frase proferida por ela: Ela to bonita que eu quis ficar pra mim (sic).
Chama ateno que uma mulher adulta resolva tomar para si o brinquedo que seria
destinado a uma criana. Em primeiro lugar, o que se evidencia com estas palavras
uma atitude regressiva da parte da paciente, que, ao tomar para si um bem (a boneca)
que seria endereado sobrinha, se identifica com esta criana, ou seja, com uma
41
menininha. Assim, Hera exemplifica a concepo freudiana (Freud, 1924b/1996)
segundo a qual o desejo de dar luz um beb viria em substituio ao falo, por meio de
uma linha de equao simblica.
Em Sexualidade Feminina, Freud (1931/1996) reafirma as ideias expressas em
1924b/1996, ressaltando que, no desenvolvimento feminino, h um processo de
transio. Resultam da duas operaes: a primeira seria o deslocamento da zona
ergena do clitris para a vagina, sem o qual a mulher permaneceria no complexo de
masculinidade e no alcanaria uma sexualidade propriamente feminina, e a segunda se
refere mudana do objeto amoroso, da me para o pai.
Ainda de acordo com Freud (1931/1996), a fase de ligao exclusiva da menina me,
chamada fase pr-edipiana, tem uma importncia maior no sexo feminino do que no
masculino, podendo estar a o cerne para explicar diversos fenmenos da vida sexual da
mulher, inclusive a escolha do companheiro.
No final de sua obra, Freud (1933/1996, p.114) volta ao enigma da natureza da
feminilidade. Questionando a distino entre feminino e masculino com base na
contraposio entre passividade e atividade, ele conclui que esta concepo
equivocada e intil. Destaca-se tambm desse perodo a relao entre o masoquismo e a
feminilidade:
A supresso da agressividade das mulheres, que lhes instituda
constitucionalmente e lhes imposta socialmente, favorece o desenvolvimento de
poderosos impulsos masoquistas que conseguem, conforme sabemos, ligar
eroticamente as tendncias destrutivas que foram desviadas para dentro. Assim, o
masoquismo, como dizem as pessoas, verdadeiramente feminino (Freud,
1933/1996, p. 116-7).
De fato, em obras anteriores, o tema do masoquismo fora abordado por Freud (1905b;
1919b; 1920a; 1924a/1996). Inicialmente descrevendo a pulso masoquista como
derivada de um sadismo que se volta para o prprio eu (Freud, 1905b/1996) ou do
42
sentimento de culpa, que converte o sadismo no seu par complementar (Freud,
1919b/1996), posteriormente a teoria freudiana postula que no h diferena entre uma
pulso que se volta do objeto para o eu ou vice-versa. assim que, em 1920a/1996,
Freud conclui sobre a existncia de um masoquismo primrio.
J em O problema econmico do masoquismo (Freud, 1924a/1996), esse assunto
retorna de maneira mais aprofundada. So descritas trs formas sob as quais o
masoquismo se apresenta observao: o masoquismo ergeno, o masoquismo
feminino e o masoquismo moral.
O primeiro resulta de um embate entre a libido e a pulso de morte, onde, na tentativa de
desviar o fluxo desta ltima para os objetos externos, uma parte fica represada e
permanece dentro do prprio organismo. O segundo tipo, ao qual Freud (1924a/1996)
associa o desejo de ser tratado como uma criana pequena, desamparada e travessa,
no limita sua ocorrncia somente s mulheres, mas est presente tambm em homens
que manifestam fantasias envolvendo situaes tipicamente femininas, como ser
castrado, ser copulado, ou dar luz um beb.
No masoquismo moral, por sua vez, h uma necessidade de punio relacionada ao
sentimento inconsciente de culpa, que resulta de uma tenso entre eu e supereu, dando
origem nossa conscincia moral. Nota-se que as duas ltimas formas do masoquismo
feminino e moral remetem sua origem ao masoquismo primrio.
A afirmao de Freud (1933/1996) a respeito do carter feminino do masoquismo pode
dar a impresso de que, na sua viso, as mulheres so atradas especialmente para o
sofrimento. No entanto, como adverte Soler (2005, p. 59), esse pensamento deturpa a
tese freudiana. Segundo a autora, ao introduzir a noo do masoquismo feminino, Freud
43
se refere a uma posio, a um lugar no par sexual, no qual o outro, o homem, que
sujeito do desejo. Assim, o que h de comum entre a mulher e o masoquista que
ambos ocupam o lugar de objeto diante do suposto parceiro desejante.
No cotidiano da clnica com mulheres, torna-se verificvel o modo como, na relao com
o parceiro, elas tendem a atribuir ao homem o papel de protagonista do desejo, cabendo
a elas somente acatar, ou no, esse desejo e colocar-se, ou no, no lugar de objeto.
comum ouvir uma mulher se queixando, por exemplo, que o marido no a procura mais,
ou seja, no expressa mais desejo por ela, o que acaba inviabilizando a relao, j que
ela, em sua posio de objeto, no reconhece seu prprio desejo.
Alm disso, Soler (2005) traz a ideia de um masoquismo universal. Segundo ela, cada
sujeito paga pelo seu desejo, na medida em que este implica lucros e perdas. Seramos
todos masoquistas, j que somos comandados por um desejo que sempre nos remete a
uma falta.
A questo da falta abordada por Freud (1937/1996) em Anlise terminvel e
interminvel, onde tambm so apresentadas algumas ideias que podem contribuir para
o debate em torno da feminilidade. Segundo este artigo, existem dois temas que
parecem enraizados na mente humana, desafiando o trabalho do analista. Esses temas,
a saber, a inveja do pnis e o protesto masculino (Freud, 1937/1996, p. 268), que
consiste, em realidade numa ansiedade de castrao, so decorrentes da distino
anatmica entre os sexos e caracterizam, respectivamente, o feminino e o masculino.
Ambos so correspondentes e possuem algo em comum, embora se manifestem de
maneira diferente. Dizem respeito a uma atitude frente ao complexo de castrao e, no
caso dos homens, o termo correto para descrev-la, de acordo com Freud (1937/1996, p.
268), seria um repdio feminilidade.
44
A teoria freudiana indica que esse fator ocupa posies distintas no sexo masculino e no
sexo feminino:
Nos homens, o esforo por ser masculino completamente egossintnico desde o
incio; a atitude passiva, de uma vez que pressupe uma aceitao da castrao,
energicamente reprimida e amide sua presena s indicada por
supercompensaes excessivas. Nas mulheres, tambm, o esforo por ser
masculino egossintnico em determinado perodo a saber, na fase flica, antes
que o desenvolvimento para a feminilidade se tenha estabelecido. Depois, porm,
ele sucumbe ao momentoso processo de represso cujo desfecho, como to
freqentemente foi demonstrado, determina a sorte da feminilidade de uma mulher
(Freud, 1937, p. 168).
Freud (1937/1996) acrescenta que uma parte desse complexo de masculinidade se
transforma e contribui para a formao da feminilidade, desse modo, o desejo de um
pnis convertido no desejo de um beb e de um marido, que possui um pnis.
Embora tenha chegado a formulaes preciosas a respeito da sexualidade e da diferena
entre o complexo de dipo feminino e masculino, pode-se dizer que Freud esbarra em
certos impasses tericos. Dentre estes, podemos destacar a necessidade, bastante
questionvel, de que a menina recalque a atividade flica do clitris e faa a passagem
para a vagina, a fim de que assim atinja a feminilidade. Como afirma Teixeira [2009?a], a
teoria freudiana hesita entre uma concepo do falo enquanto significante e uma
explicao da sexuao em termos anatmicos.
Birman (2001) parte da leitura freudiana sobre a castrao e traz algumas contribuies
interessantes relativas contemporaneidade. Articulando o repdio feminilidade
posio originria de desamparo6 do ser humano, esse autor esclarece que a
6
De acordo com Birman (1999), embora a palavra desamparo tenha aparecido bem precocemente nos
textos freudianos, como, por exemplo, no Projeto para uma psicologia cientfica (Freud, 1895[1950]/1996),
a elaborao de seu conceito exposta somente nos artigos metapsicolgicos, publicados a partir dos anos
20. Esse lapso temporal indicaria, ento, uma descontinuidade no pensamento freudiano, ou seja, o Freud
de 1895 no o mesmo de 1920. Assim, Birman (1999) ressalta que o conceito de desamparo expresso por
Freud nos textos metapsicolgicos est relacionado a uma prematuridade do organismo humano, que vem
ao mundo despreparado para a vida e dependente do Outro para satisfazer as suas necessidades. Sem o
agenciamento do Outro, o sujeito estaria fadado morte. Cabe enfatizar que este desamparo e esta
dependncia ocorrem ao longo de toda a existncia humana, devido constncia das foras pulsionais, que
requerem a mediao do Outro para que possam ser dominadas e direcionadas aos seus destinos (Birman,
1999). Em outras palavras, poder-se-ia afirmar que este desamparo original do ser humano se refere falta
45
feminilidade assim proposta transcende a diferena sexual, porque no se identifica nem
com a sexualidade feminina e nem com a masculina, mas consiste em algo que revela a
inexistncia de instrumentos de proteo do sujeito. De acordo com Birman (2001, p. 45),
na concepo de Freud, homens e mulheres teriam horror feminilidade, porque nesse
registro psquico no existiria qualquer referncia ao falo.
Seria, pois, em busca de uma referncia flica, que o sujeito empreenderia uma caada
incessante por um objeto que tamponasse essa falta e seu conseqente desamparo,
direcionando sua subjetividade para a centralidade atribuda ao falo e ao narcisismo.
Birman (2001) adverte que, ao encontrar-se nessa posio limite, o sujeito tambm pode
construir possibilidades efetivas de criao e de sublimao, atravs de sua maneira
singular de existncia e do seu estilo prprio.
Pode-se relacionar essa ideia com o que trazido por Lamy (1995) e Borsoi (1995),
quando afirmam que a feminilidade est relacionada a uma no-definio ou a uma falta
que no pode ser recoberta. Para tornar-se mulher, ento, seria necessrio encarar esse
horror e tentar elabor-lo atravs de um trabalho psquico.
Outro caminho, este, menos feliz, apontado por Birman (2001), o da homogeneidade
das individualidades, atravs da qual os sujeitos suprimem a sua prpria singularidade e
o seu estilo prprio de existncia, buscando adequar-se a um modelo que lhe imputado
pelo coletivo. Caracterstica da sociedade de massas na modernidade, essa
homogeneidade das individualidades teria relao com a posio masoquista, na qual o
sujeito se agarra e se cola a um outro, oferecendo a este, em contrapartida, seu corpo
como objeto de gozo, para assim evitar, custe o que custar, a tragicidade da experincia
do desamparo (Birman, 2001, p. 47). Diante desta ideia, poder-se-ia questionar se a
estrutural que marca o sujeito desde a sua insero no mundo da linguagem, conforme apontado no
pensamento lacaniano.
46
maternidade,
em
determinadas
situaes,
no
estaria
sendo
utilizada,
inconscientemente, como um subterfgio para evitar o encontro com o desamparo. Seria
este o caso de Hera, que busca, a todo custo, reparar uma falta que parece ter sido
evidenciada com a perda da filha?
Lacan (1958a/1998), por sua vez, parte da premissa freudiana de dissimetria radical
entre os sexos para destacar a dimenso simblica da castrao e o carter significante
do falo. Ao invs da oposio flico/castrado proposta por Freud e que se relaciona ao
ter/no ter, ele postula uma diviso lgica baseada no ter/ser. Assim, as relaes entre
os sexos se situam em torno da funo do falo, ou seja, essas relaes giraro em torno
de um ser e de um ter que, por se reportarem a um significante, o falo, tm o efeito
contrrio de, por um lado, dar realidade ao sujeito nesse significante e, por outro,
irrealizar as relaes a serem significadas (Lacan, 1958a/1998, p. 701).
Na medida em que toma a castrao em sua dimenso simblica, Lacan pode encontrar
uma sada para o impasse freudiano, pois, desse modo, ambos os sexos se posicionam
diante de uma falta. Falta esta que estrutural e resulta da incidncia da linguagem na
sexualidade humana. De acordo com a tica lacaniana, o homem s pode ter o falo
sobre o fundo de que no o tem, ou seja, s pode fazer valer o seu atributo viril uma vez
que tenha passado pela castrao (Teixeira, 1991, p. 15).
A partir dessas concepes, elaborado o grafo das frmulas da sexuao (Lacan,
1972-1973/1985):
47
Figura 1 (Lacan, 1972-1973/1985, p. 105).
Segundo Lacan (1972-1973/1985), todo ser falante se inscreve de um lado ou de outro
dessa figura. Do lado esquerdo, que se convencionou chamar de lado masculino,
encontra-se a funo flica, que sustenta o desejo do homem. Lacan (1972-1973/1985)
enfatiza que todo homem se inscreve sob esta funo, exceto um (representado por x),
pelo qual a funo flica negada: trata-se da funo do pai. Do lado direito, localiza-se
a mulher, mas tambm pode se situar a qualquer outro ser falante, seja ele provido ou
no de atributos masculinos. Advertindo-se que, ao inscrever-se nesta parte, o sujeito
ser no-todo, pois nela no h universalidade.
O $ (sujeito barrado) e o (falo simblico) esto inscritos do lado do homem,
observando-se que esse $ s tem a ver, enquanto parceiro, com o objeto a inscrito do
outro lado da barra (Lacan, 1972-1973/1985, p. 108). Assim, esse sujeito barrado s
pode atingir o seu parceiro sexual, que o Outro, desde que ele seja a causa de seu
desejo, o que evoca a frmula da fantasia: $
a.
Lacan (1972-1973/1985) ressalta que o fato de a teoria freudiana postular que a libido
masculina acabou por deixar um dos campos ignorados, o que no significa que ele seja
menos importante. Trata-se do campo em que se situam aqueles que assumem o
estatuto da mulher. No entanto, para Lacan (1972-1973/1985), imprprio falar A
48
mulher, pois, a partir do momento em que se enuncia pelo no-todo, A mulher no pode
se escrever. Por isso, ela representada por um A barrado (na figura, La).
Por ser um conjunto cujos elementos se definem como no-todos em relao funo
flica, impossvel descrever uma classe das mulheres: no h um trao tipicamente
feminino, que defina todas as mulheres. Esta a razo da frase polmica de Lacan
(1972-1973/1985), de que A mulher no existe. De acordo com Soler (2005), considerar
as mulheres como no-todas considerar que o significante mulher no pode ser
reduzido ao discurso e presentifica algo que est alm da fala. A esto dadas as
condies para o enigma da feminilidade e para tantos equvocos que envolvem a
relao entre os sexos.
Em Televiso, Lacan (1974/2003) reafirma a inexistncia dA mulher, acrescentando
que isso no impede que ela seja tomada como objeto de desejo:
A mulher no ex-siste. Mas o fato de no ex-sistir no impede que se faa dela
objeto do desejo. Muito pelo contrrio, da o resultado. Com o que O homem,
enganando-se, encontra uma mulher com quem tudo d certo: ou seja,
comumente, o fiasco em que consiste o sucesso do ato sexual (Lacan, 1974/2003,
p. 536).
Nesse ponto, pode-se trazer tambm uma contribuio de Teixeira (1991), que observa
que as questes para o feminino giram em torno da falta de um significante que lhe
defina. Todavia, o fato dA mulher no existir, ao invs de evitar, contribui para que ela
seja alvo de idealizao, tanto pelos homens como pelas prprias mulheres, que buscam
nessa figura idealizada uma tentativa de alcanar uma identificao feminina. Essa
situao, segundo Teixeira (2007; [2009?b]), favorece uma dependncia do imaginrio,
cuja conseqncia pode ser uma busca v de adequar-se boa imagem, ao padro de
beleza imposto pela sociedade contempornea. Outra manifestao dessa dependncia
a figura da amiga, que geralmente emerge na adolescncia como companheira de
49
todos os momentos e serve de referncia especular para o acesso feminilidade. Todas
estas manifestaes seriam tentativas de fazer par com o outro, isto , de encontrar uma
relao biunvoca em meio aos imbrglios da sexualidade.
Retornando elaborao lacaniana das frmulas da sexuao, acrescenta-se que a
mulher aquilo que tem relao com o Outro:
A mulher tem relao com o significante desse Outro, na medida em que, como
Outro, ele s pode continuar sendo sempre Outro. Aqui, s posso supor que vocs
evocaro meu enunciado de que no h Outro do Outro. O Outro, esse lugar onde
vem se inscrever tudo que se pode articular de significante, em seu fundamento,
radicalmente Outro. por isso que esse significante, com esse parntese aberto,
marca o Outro como barrado S () (Lacan, 1972-1973/1985, p. 109).
Em A significao do falo, de 1958a/1998, encontra-se uma afirmao de Lacan que
fornece elementos para se pensar a posio da mulher em relao ao Outro. De acordo
com ele, para ocupar o lugar de significante do desejo do Outro, a mulher rejeita uma
parte essencial da sua feminilidade. Desse modo, pelo que ela deixa de ser que ela
almeja ser desejada e amada ao mesmo tempo. Encontrando o significante do desejo no
corpo daquele a quem dirige sua demanda de amor, ela faz a convergncia de uma
experincia de amor que provoca sua prpria privao, e de um desejo que encontra ali
seu significante.
A questo do desejo feminino foi abordada tambm por Lacan (1956-1957; 1957-1958a)
nos Seminrios, livro 4 e livro 5, ao referir-se ao chamado desejo da me. Este desejo
definido a partir do momento em que a criana se apresenta me como lhe oferecendo
o falo, sendo considerado determinante para proporcionar a simbolizao do filho e
introduzi-lo no mundo da linguagem. No entanto, o desejo da me deve ser entendido
tambm como um desejo sexuado ou, como afirma Soler (2005, p. 99), um desejo de
mulher, na medida em que, situando-se alm da maternidade, requer uma mediao
dada pela posio do pai na ordem simblica. Desejo da me e Nome-do-Pai so,
50
portanto, significantes que se encontram intimamente articulados e que participam na
determinao do sujeito.
Na discusso sobre o caso Schreber, Lacan (1957-1958b/1998) enfatiza a articulao
entre esses dois significantes, postulando que a significao do falo, isto , o significado
que tem o sujeito frente ao desejo do Outro deve ser evocado pela metfora paterna.
Esta metfora denota a entrada do Nome-do-Pai, que se introduz na medida em que a
me alterna sua presena com a ausncia. Deste modo, tem-se a configurao da
metfora paterna:
Nome-do-Pai
Desejo da Me
Desejo da Me
Significado para o sujeito
Nome-do-Pai
A
Falo
Figura 2 (Lacan, 1957-1958b/1998, p. 563).
Prates (2001) destaca que a metfora paterna tem um duplo efeito. Alm de promover a
estruturao do sujeito, que, a depender do seu modo de lidar com a falta, responde
como neurtico, psictico ou perverso, instaura tambm a sexuao, ou seja, a
identificao sexual constituda a partir do modo como o sujeito se coloca diante do falo.
A concepo de desejo da me (1956-1957; 1957-1958a) vem a reafirmar a ideia de que
o amor materno, ou melhor, o desejo em relao ao filho, no est condicionado
situao biolgica de gravidez, o que verificado atravs do caso de Rosa. Percebe-se
que a dificuldade de estabelecer um lao afetivo com o filho que est esperando no
to incomum entre as mulheres. Muitas delas relatam que a gestao no foi planejada e
interpretam este evento como um equvoco, dizendo, por vezes, sentirem-se
despreparadas para lidar com a chegada deste novo ser. Sabe-se, entretanto, que o
desejo no est necessariamente ligado a uma questo de planejamento. por isso que
51
se torna possvel desenvolver um sentimento de apego pelo beb mesmo que este tenha
sido fruto de uma gravidez no esperada.
Mas o que vem a ser intrigante no caso de Rosa que ela tem uma filha adotiva, sendo a
adoo algo que ocorreu na sua vida tambm sem um planejamento, porm se tornou
bastante significativo do ponto de vista afetivo. Encontra-se a uma contradio: enquanto
a filha adotiva alvo dos impulsos amorosos de Rosa, o filho biolgico parece no ter
sido capaz de despertar nela impulsos deste tipo.
Como mencionado acima, o desejo da me (Lacan, 1956-1957; 1957-1958a) est
relacionado ao fato de o filho se apresentar me como lhe oferecendo o falo, tomado
como objeto possvel de satisfazer um desejo que, em realidade, insacivel. Pode-se
dizer que o filho biolgico de Rosa no se apresenta a ela desta forma, enquanto que a
filha adotiva o faz. Emerge, ento, uma interrogao: O que faz com que uma criana
desperte o desejo da me em uma mulher?
Se for levado em conta que o desejo da me transcende a questo da maternidade e
pressupe a presena de um homem, poder-se-ia pensar que est a o cerne deste
desejo, e no na maternidade em si mesma. Como afirma Soler (2005, p. 35), O filho,
como resto da relao sexual, realmente pode obturar em parte a falta flica na mulher,
mas no a causa do desejo feminino que est em jogo no corpo a corpo sexual [grifo
nosso]. por isso que o desejo da me tambm um desejo de mulher, que a divide e a
conduz a duas direes: criana e ao homem.
Na medida em que desejo da me e Nome-do-Pai so significantes que se encontram
intimamente articulados, pode-se considerar a maternidade como uma possibilidade de
evocar o Nome-do-Pai. Entretanto, no caso de Rosa, pode-se dizer que, ao invs de uma
52
diviso entre me e mulher, h uma sobreposio desta ltima sobre a primeira, fazendo
com que a funo paterna fique escamoteada.
Tanto com a filha adotiva como com o filho biolgico, Rosa parece assumir uma posio
histrica, na medida em que se coloca como portadora do falo e, de certa forma, exclui a
funo paterna. importante mencionar que, na ocasio em que resolve adotar sua
primeira filha, Rosa era uma jovem solteira, independente socioeconomicamente, e seus
planos no incluam a questo da maternidade. Entretanto, ao tomar para si uma criana,
ela se dedica com afinco, deixando transparecer em seu discurso que desempenha tanto
a funo materna como a funo paterna diante da filha, ou seja, tornando a paternidade
algo prescindvel.
Com o segundo filho, apesar de fazer algumas tentativas para que a criana seja
reconhecida atravs do olhar do outro, que o pai, Rosa demonstra um incmodo com a
possibilidade da entrada desta terceira figura na relao, mencionando inclusive a
inteno de erigir algumas barreiras entre os dois. Nota-se que, mais uma vez, ela se
coloca como aquela que dispensa a paternidade e assume as duas funes na relao
com a criana, como se fosse capaz, ao mesmo tempo, de permitir e interditar o acesso
da criana ao gozo materno.
Percebe-se que esta situao implica em riscos para a criana. Sauret (1997/1998),
valendo-se do texto de Lacan (1969/2003) Nota sobre a criana, comenta sobre a
resistncia da famlia, apesar dos ataques que lhe so dirigidos. Segundo ele, a famlia
resiste justamente porque nela h algo de irredutvel, algo comparado ao sinthome,
entendido como aquilo no qual o gozo encontra um limite para a sua irredutibilidade, um
incurvel. A irredutibilidade da famlia est ligada a uma exigncia de transmisso de trs
elementos: o saber, o gozo e o objeto, os quais possibilitam a existncia do sujeito.
53
Assim, afirma-se que No h necessidade de famlia para fazer filhos, mas para fazer
sujeitos, sim (Sauret, 1997/1998, p. 87), pois a transmisso implica a incidncia de um
desejo que no seja annimo, como ressalta Lacan (1969/2003, p. 369).
Tanto a funo da me como a funo do pai devem estar, de acordo com Lacan
(1969/2003), relacionadas nomeao de um desejo. No caso da me, sua funo
expressa atravs dos cuidados que revelam um interesse particularizado; quanto funo
do pai, seu nome indica a personificao da Lei no desejo. Tratam-se, ento, de desejos
que saem do anonimato, destaca Sauret (1997/1998). Vale lembrar que estas funes
no precisam necessariamente ser desempenhadas pelas figuras do pai e da me, mas
por pessoas que sejam capazes de transmitir criana um desejo cuja autoria possvel
de ser indicada.
Nota-se que, no grafo, a mulher tem relao com S () e tambm com . Por isso, Lacan
(1972-1973/1985) afirma que ela se duplica e no-toda. Na realidade, ela tem acesso
ao gozo flico, que o gozo sexual, acessvel tanto aos homens quanto s mulheres, e
tambm ao gozo Outro, um gozo mstico, situado fora da linguagem, o que lhe propicia
uma relao mais prxima com Deus. Como afirma Lacan (1972-1973/1985, p. 112-113),
Se com esse S () eu no designo outra coisa seno o gozo da mulher, certamente
porque ali que eu aponto que Deus ainda no fez sua retirada.
Lacan (1972-1973/1985) tambm se refere a esse gozo da mulher como um gozo
feminino, infinito, suplementar, para alm do falo. Sobre isso, Teixeira (2007) faz uma
observao; que, com o termo suplementar, Lacan (1972-1973/1985) indica algo a
mais, contrapondo as crticas que afirmam que a teoria psicanaltica colocaria a mulher
em uma posio inferior, um menos em comparao com o homem.
54
Na medida em que coloca a inexistncia de uma classe das mulheres, a teoria lacaniana
denuncia a impossibilidade de se estabelecer uma relao entre um elemento do
conjunto masculino e um elemento do conjunto feminino. Como demonstra o grafo, no
ao parceiro que se dirige o desejo, mas sim ao falo, enquanto significante do desejo, ou
seja, os dois lados no so complementares. Enquanto a mulher dirige o seu interesse
para o falo, o homem se volta para o objeto a, que sustentculo da fantasia.
Assim, formula-se outra provocao de Lacan (1972-1973/1985), a de que a relao
sexual no existe e, embora os parceiros tentem realiz-la atravs da cpula, a sua
escritura permanece impossvel. Nas palavras do autor: O no pra de no se escrever,
em contraposio, o impossvel, tal como o defino pelo que ele no pode, em nenhum
caso, escrever-se, e por a que designo o que da relao sexual a relao sexual
no pra de no se escrever [grifo do autor ] (Lacan, 1972-1973/1985, p. 127).
A impossibilidade da relao sexual promove nos sujeitos uma tentativa de suprir essa
falta atravs de diferentes objetos. O sexo, o amor, a maternidade so, ento, apontados
como caminhos possveis para lidar com um furo7 que insiste em no se recobrir. No que
se refere maternidade, Lacan (1972-1973/1985, p. 49) afirma: A mulher s entra em
funo na relao sexual enquanto me. De acordo com ele, o filho como uma rolha,
que tampona a ausncia de si mesma, a ausncia enquanto sujeito que h no gozo
feminino.
Esta citao, se conjugada ideia de que a criana realiza a presena do objeto a na
fantasia (Lacan, 1969/2003), pode revelar um pensamento que Sauret (1997/1998) deixa
um pouco enigmtico, ao expressar que uma mulher faz um filho pelo fato de que A
7
Este termo utilizado por Lacan (1977-1978) no Seminrio, livro25: o momento de concluir, no qual ele
recorre figura topolgica do toro para demonstrar o furo prprio do humano e que diz respeito dimenso
do real.
55
mulher no existe. que o filho, presentificando o objeto a na fantasia, faz com que ela,
acostumada a ocupar o lugar de objeto na relao com o homem, possa se posicionar
como sujeito.
Soler (2005) declara que, para a mulher, a criana tambm real, e o real algo pelo
qual a mulher sempre ultrapassada, especialmente no que se refere gestao e ao
parto, visto que estes so os momentos em que ela se depara com o inefvel do
encontro incomensurvel (p. 229), encontro no qual se depara com a sua prpria falta.
Na clnica, so percebidas manifestaes diversas de lidar com a relao de gozo
existente no corpo-a-corpo entre me e filho, desde a comoo e a euforia, at o
sentimento de repulsa ou mutilao que a imagem da criana desperta. O caso de Rosa
faz levantar a hiptese de que a dificuldade em inscrever o filho biolgico numa ordem
simblica esteja relacionada a uma tentativa de evitar este encontro com o real e o
consequente reconhecimento de sua falta flica.
Outro ponto importante que, apesar das escassas demonstraes de afeto em torno da
gravidez e de adiar ao mximo as providncias que geralmente so tomadas diante da
chegada de uma criana, Rosa escolhe, logo nos primeiros meses, o nome do filho,
embora sem expor grandes argumentos que justifiquem a sua escolha. No convm aqui
explicitar o nome escolhido, mas apenas ressaltar que este se refere a um personagem
bblico, contextualizando alguns elementos da sua histria e significado.
O personagem que nomeia o filho de Rosa descrito na Bblia como um juiz e profeta. A
ocasio de sua concepo surgiu a partir da promessa que uma mulher com problemas
de infertilidade dirigiu a Deus. Assim, diferentemente do filho de Rosa, esta criana veio
aps um chamado, e tal chamado ocorrera num momento bastante intenso para aquela
mulher, que, orando em devoo, manifestava a aparncia de embriaguez. Isto pode
56
remeter ideia do gozo mstico, o mesmo gozo que se percebe ao contemplar a esttua
de Santa Teresa, de Bernini, em Roma, como apontado por Lacan (1972-1973/1985).
A aparente dicotomia entre filhos biolgicos e filhos adotivos, presente no caso de Rosa,
conduz necessidade de destacar que, do ponto de vista psquico, maternidade e
adoo esto intrinsecamente relacionadas. Quer se trate de uma me adotiva ou
biolgica, a mulher deve adotar simbolicamente a criana real, inserindo o infante no
mundo das ideias e dos ideais, para permitir que ele alcance um trao simblico e,
consequentemente, a assuno de sua identificao como sujeito. Alm disso, o filho
tambm adotado imaginariamente, ou seja, revestido de uma imagem que o torna, ao
mesmo tempo, reconhecvel pela me e diferenciado dela (Rosa, 2001). Vale acrescentar
que a adoo uma via de mo dupla, j que a criana tambm adota simblica e
imaginariamente os pais, no momento em que os toma como figuras de referncia e
identificao.
No que diz respeito a Rosa, nota-se que ela realiza esse processo de adoo simblica e
imaginria com a primeira filha, no entanto, h uma dificuldade em faz-lo com o
segundo filho. Questiona-se, ento, que fatores levariam a este entrave. Um dos
aspectos que podem ser apontados como intervenientes no processo de adoo psquica
a questo da diferena entre os sexos das crianas, tema que j fora abordado por
Freud (1925b/1996), a partir do ponto de vista infantil, em Algumas conseqncias
psquicas da distino anatmica entre os sexos.
De acordo com Zalcberg (2003), me e filha geralmente tendem a desenvolver uma
grande proximidade, devido s questes especficas que concernem a ambas enquanto
mulheres. Essa proximidade pode favorecer a crena de que possvel transmitir a
feminilidade de uma para a outra, no entanto, cabe a elas libertarem-se disso, posto que
57
consiste apenas uma iluso, sendo necessrio buscar seus percursos de modo
independente.
Soler (2005) tambm ressalta a diferena estabelecida pela me na relao com o seu
filho, conforme o sexo. Alm de ser colocado na relao da mulher com a funo flica, a
criana do sexo masculino encarna o significante e presentifica o real incomensurvel.
Segundo esta autora, o menino pode ser, para a me,
[...] o encontro perpetuado com aquilo que ela lida mais particularmente como
mulher: o alm do simblico e os limites de todo saber. Nesse caso, o filho, como
pedao de real, vem simbolizar para a me o prprio S(). Exatamente nesse
sentido, ele participa da prpria diviso da me, para ela, o Outro que a mulher
para todo sujeito. Talvez tambm seja por isso que ela goza com ele (Soler, 2005,
p. 230).
Assim, levanta-se a hiptese de que a diferena existente na ligao afetiva de Rosa
com seus filhos seja proveniente de uma tentativa de evitar o encontro com o real
evocado pela presena da criana do sexo masculino e, por outro lado, a possibilidade
de elucidao do enigma da feminilidade pela via da identificao com a criana do sexo
feminino. Em outras palavras, ao ver sua filha tornar-se mulher, Rosa estaria
respondendo aos seus prprios anseios em busca da feminilidade, coisa que no
ocorreria na relao com um filho homem.
Situados os lugares da mulher e da me nas teorias psicanalticas de Freud e Lacan, fazse necessrio agora estabelecer uma diferenciao entre a mulher e a histrica, figuras
que comumente so confundidas na prtica clnica. Como afirma Soler (2005, p. 42),
toda neurtica que se apresenta na anlise tida como histrica, quase que a priori, a
menos que se suspeite de loucura; porm essa situao consiste num erro clnico,
porque a histeria algo muito preciso, com caractersticas e funcionamento bastante
peculiares. o que se pretende abordar no prximo item.
58
2.2. A HISTRICA E A MULHER
Sabe-se que a histeria uma neurose em que os conflitos psquicos inconscientes so
expressos de forma teatral e atravs de simbolizaes, podendo manifestar sintomas
corporais semelhantes s convulses ou ataques epilticos, bem como paralisias,
contraturas, cegueira. Sua denominao tem origem grega, hister(a), que significa tero,
matriz, e sua associao com a feminilidade vem desde a antiguidade, quando se
acreditava que a doena era gerada no tero e irradiava para o corpo em sua totalidade
(Roudinesco & Plon, 1998).
Antes sinnimo de bruxaria e simulao, foi no final do sculo XIX que a histeria se
tornou foco do pai da psicanlise. Inicialmente, Freud (1896/1996) sublinhava que a
histeria tinha origem traumtica e era fruto de um abuso sexual vivenciado na infncia.
Esta teoria da seduo, no entanto, foi depois substituda pela teoria da fantasia,
enfatizando o conflito psquico inconsciente como causa principal da neurose.
importante notar que, alm da nfase no conflito psquico inconsciente, a teoria
freudiana concebe a origem da histeria como uma relao simblica, ou seja, o
encadeamento de smbolos que dominam o corpo, parecendo antecipar a ligao ente o
inconsciente e o significante (Pollo, 2003). Esta ideia pode ser evidenciada no comentrio
de Freud (1893/1996, p. 202) sobre o caso de Frulein Elisabeth Von R, ao postular que
a histeria tem razo em restaurar o significado original das palavras.
De acordo com Andr (1987), o valor traumtico da experincia vivida pelo sujeito
histrico est associado a uma tentativa de repulsa diante de um real dessexualizado
sobre o qual nada pode ser dito. Como afirma este autor, a histeria nos coloca, assim, a
59
questo de saber como a sexualizao atinge o corpo, como, no ser humano, se opera a
mutao que privilegia o fato de se ter um corpo mais que o de ser um organismo [grifo
do autor] (Andr, 1987, p. 99).
Essa repulsa diante da excitao sexual se torna evidente no caso de Dora, paciente de
Freud (1905/1996) que o leva a crer que, na histeria, h uma inverso do afeto,
manifesta por sentimentos preponderante ou exclusivamente desprazerosos despertados
pela oportunidade de excitao sexual.
Alm disso, Dora faz um deslocamento da
sensao, que descrito por Freud (1905a/1996) como uma mudana da sensao
genital que seria naturalmente sentida por uma moa sadia, por uma sensao de
desprazer ou repugnncia.
Retornando confuso entre histeria e feminilidade, pode-se ressaltar que, embora
Freud tenha utilizado em sua maioria casos clnicos de mulheres para retratar suas ideias
a respeito da histeria, ele sempre negou que esta fosse uma neurose privativa do sexo
feminino. Em 1886/1996, por exemplo, ele publicou Observao de um caso de
hemianestesia em um homem histrico, caso este que havia sido apresentado por ele
perante a Sociedade de Medicina de Viena, aps ser desafiado por Meynert a expor os
sintomas histricos de um paciente masculino.
De acordo com Soler (2005), o equvoco de fazer equivaler feminilidade e histeria parece
encontrar sua razo no fato de que a expresso ser o falo utilizada no ensino
lacaniano tanto para designar a posio feminina na relao sexual como um tipo de
identificao histrica. Entretanto, deve-se ratificar que a posio da mulher no jogo
sexual no aponta uma identificao, mas um lugar, que o de complemento do desejo
masculino, como expresso na frmula da fantasia: $
a.
60
Essa frmula evidencia, pois, uma dissimetria, traduzida pela ideia de que, na relao
sexual, necessrio que o homem deseje, ou seja, ocupe o lugar de sujeito, enquanto
que a mulher precisa somente se deixar desejar, isto , consentir, ocupando o lugar de
objeto. Por isso, Soler (1998, p. 240) afirma que o desejo do homem soberano quando
se trata do momento do coito, j que ele que dispe do instrumento que condiciona a
copulao.
A insero de uma mulher na relao sexual, ento, prescinde do seu desejo, e isso
pode ser comprovado pelo fenmeno do estupro:
De fato o estupro est a para indicar, para traduzir nos fatos que o desejo do
homem que comanda a copulao e que o consentimento feminino nem mesmo
necessrio. Em geral verdade que o consentimento feminino mesmo assim
requerido. Porm consentir no desejar. Se o homem deseja diz Lacan para a
mulher, na relao sexual, basta que se deixe desejar, isto , que ela consinta. Da
a questo de saber, mais alm do consentimento, qual o desejo propriamente
feminino (Soler, 1998, p. 240).
A questo do desejo feminino no pode ser resolvida pelo ato, conforme Soler (2005),
porque h vrias maneiras de inscrio. Cabe, assim, diferenciar a maneira feminina e a
maneira histrica de inscrever-se, levando-se em considerao que as duas podem
tambm se manifestar de modo combinado. que a identificao com o desejo,
empreendida pela histrica, inviabiliza a identificao com o objeto de gozo.
Andr (1987) indica que o ponto de partida da histeria se situa numa falha do Outro. Com
as histricas estudadas por Freud, percebe-se que essa falha fundamental encontrada
no pai. A figura paterna vista como estruturalmente impotente e incapaz de fornecer a
elas o apoio que esperavam. Assim sendo, o falo que a histrica encontra em seu pai
sempre insuficiente, posto que no lhe fornece um significante para o feminino.
Para o autor supracitado, em realidade, a histrica faz uma demanda que se revela como
um questionamento sobre a feminilidade. Ela espera que seu pai possa lhe fornecer os
61
elementos necessrios para que ela construa uma identificao feminina, porm,
enquanto estruturalmente impotente, ele no corresponde a essa expectativa.
A insgnia paterna s indica o falo, s sugere identificao flica. O que se pe em
causa a partir de ento, na demanda da histrica ao pai, uma falta absolutamente
radical: mais que um fracasso do recalque, uma verdadeira impossibilidade de
recalcar que designada. Pois o representante que deveria ser recalcado falta,
pura e simplesmente: no h no Outro... significante do sexo feminino como tal
(Andr, 1987, p. 112).
Pela falta de um significante especificamente feminino, torna-se difcil o revestimento e a
erotizao completa do real do corpo, numa mulher, a partir de sua imagem corporal.
Diante desse impasse, ela pode se fazer toda flica, ou seja, fazer-se homem na
medida em que aborda a sexualidade maneira masculina, na ostentao flica, o que
no o mesmo de assumir uma aparncia masculina (Andr, 1987).
Embora a parte propriamente feminina da feminilidade seja impossvel de se nomear, por
se tratar de algo no-representvel, a histrica cr que pode alcan-la. Nas palavras de
Andr (1987, p. 112-113), o que ela diz, com efeito, que, privada de uma identificao
propriamente feminina, s se pode ver reduzida ao estatuto abjeto de objeto de consumo
entregue perverso do macho. Dora sustenta a sua reao nessa ideia, ao se recusar
a ocupar o lugar de objeto diante do Sr. K.
assim que a histrica se v aprisionada pela fantasia masculina, reduzindo a esta todo
o comportamento sexual. Padecendo da falta do Outro, a histrica se engaja em reparla, podendo chegar ao sacrifcio de sua vida pessoal, especialmente de toda a vida
amorosa, como ressalta Andr (1987). Devotando-se ao pai, a histrica busca
desesperadamente identificar-se com uma imagem feminina, porm acaba esbarrando
na sua prpria impotncia ou apaixonando-se por uma outra mulher, que parece
encarnar esta imagem feminina inacessvel.
62
Atravs de uma desmontagem da estrutura da histeria, Andr (1987, p. 114) conclui que
ela no se manifesta apenas como uma neurose, mas tambm, simplesmente, como
uma maneira de colocar a problemtica da feminilidade. Pois a falta de uma identidade
propriamente feminina deve ser encontrada por toda mulher. Desse modo, pode-se dizer
que a histeria um dos caminhos pelos quais algumas mulheres enveredam na busca
pela feminilidade.
Na relao com o parceiro, o que a histrica pretende uma operao de subtrao do
gozo, identificando-se com o desejo puro que supe no satisfazer esse gozo; a ela
interessa saber a causa do desejo, o objeto que faz desejar, no suportando estar ela
prpria no lugar de objeto. Sua inteno ser o que falta ao Outro, pois o que lhe fascina
o objeto agalmtico que faz desejar.
Cabe nesse ponto esclarecer o que seria galma, termo utilizado por Lacan (1960-1961),
no Seminrio, livro 8: A transferncia. Esta palavra tem origem grega e significa, a
princpio, adorno, ornamento. Para Lacan (1960-1961), o galma tem valor de enigma e
est relacionado ao amor. Neste seminrio, o autor faz uma anlise do Banquete, de
Plato, e comenta sobre um momento em que Alcibades prope uma mudana nas
regras do jogo: ao invs de elogiar o amor, cada membro da mesa deveria fazer um
elogio pessoa que estava sentada sua direita. Dessa maneira, Alcibades pretende
promover uma identificao, desmascarando Scrates para que este manifestasse seu
desejo. Mas Scrates se esquiva e afirma que, na realidade, o que Alcibades procura se
encontra em Agaton.
A cena descrita acima usada por Lacan (1960-1961) para explicar o que seria o
galma, ou seja, aquilo que se vai buscar no amor, aquilo que o outro tem de desejvel.
63
galma , pois, esse objeto precioso que atrai o olhar do outro, esse objeto inslito que
provoca encanto.
Embora no suporte permanecer no lugar de objeto, no se deve da concluir que a
histrica se recuse a qualquer gozo ou que deixe de ir para a cama com o parceiro. Soler
(1998; 2005) comenta, inclusive, que as histricas, s vezes, confessam ter uma coleo
de amantes, mas no gozam no sentido sexual, ou afirmam que h outra razo para ir
para a cama. O sujeito histrico aquele que consome a falta, e isso consiste num gozo,
porm no um gozo vivo. A satisfao, ou seja, o mais-gozar do sujeito histrico
justamente introduzir um menos na consumao do gozo sexual. Ele goza de abster-se
ali onde se chamado como objeto de gozo (Soler, 1998, p. 243). Em outras palavras, o
que define a posio histrica justamente essa vontade de deixar o gozo insatisfeito.
Diante das ideias retratadas acima, so percebidas algumas semelhanas com o modo
de funcionamento de Accia. Como comentado anteriormente, sua inclinao
homossexual pode estar relacionada busca por uma figura feminina com a qual
identificar-se. Nota-se tambm que o seu envolvimento com diversos parceiros, mesmo
sem que encontre a a sensao de prazer, remete procura da histrica em torno do
objeto agalmtico e sua eterna insatisfao.
Quanto posio da mulher, trata-se de algo totalmente oposto. Segundo Lacan
(1958b/1998), o que a mulher quer gozar, ela quer gozar tanto quanto o homem deseja.
E isso a difere da histrica, pois, enquanto a mulher quer gozar, a histrica quer ser, ser
alguma coisa para o Outro, mas no um objeto de gozo, como a mulher, e sim o objeto
precioso, o galma que ampara o desejo e o amor.
64
Com relao a esse querer gozar da mulher, ele vem acompanhado de um querer fazer
gozar, gozo este que a divide, como afirma Lacan (1972/2003, p. 467) em O aturdito:
mesmo que se satisfaa a exigncia do amor, o gozo que se tem da mulher a divide,
fazendo-a parceira de sua solido, enquanto a unio permanece na soleira. Com essa
frase, Lacan reafirma que a mulher no-toda e, por isso, a nica a ser ultrapassada por
seu gozo.
A partir dos postulados lacanianos, Soler (1998; 2005) prope montar um quadro dos
traos diferenciais entre a mulher e a histrica:
Mulher
Histrica
ref. Gozo
ref. Desejo
querer gozar,
querer ser
ou fazer gozar
S ()
S1
S2
mulher
Figura 3 (Soler, 1998, p. 245; 2005, p. 53).
De acordo com os elementos dispostos no quadro acima, do lado da mulher, esquerda,
est a referncia ao gozo, simbolizada pelo sinal de adio; do lado da histrica, por sua
vez, direita, encontra-se a referncia ao desejo, simbolizada pelo sinal de subtrao.
Alm disso, do lado esquerdo, situa-se um querer gozar, enquanto, no lado oposto, est
65
um querer ser. A diviso da mulher, provocada pelo gozo, representada pela seta dupla
que a liga, simultaneamente, ao Outro - S () - e ao falo - .
No que se refere ao discurso da histrica, vale destacar que sua posio - $ - evidencia
que ela pretende obter do mestre a produo de um saber, isto , para a histrica, no se
trata simplesmente de fazer com que o Outro deseje sexualmente, mas que diga a causa
do seu desejo, que produza um saber sobre o objeto, conforme apontado por Lacan em
1969-1970/1992. No entanto, essa misso constitui impossvel, pois no h como definir
esse objeto precioso, o galma da mulher: Da a insatisfao que tropea no impossvel
de dizer e se alimenta de todos os saberes produzidos (Soler, 2005, p. 53).
Esclarecidas as diferenas, pode-se questionar: O que h de comum entre a histeria e a
feminilidade? Esta questo foi abordada por Soler (1995, p. 206) em Variveis do fim da
anlise, ao afirmar que qualquer mulher, seja ela histrica ou no, est sempre em
relao com o Outro, o oposto do homem. A oposio em relao ao homem se d no
fato de que seu parceiro de gozo no constitui o Outro, mas sim o objeto a do fantasma,
conforme demonstrado por Lacan (1972-1973/1985) nas frmulas da sexuao.
Enquanto, para os homens, o parceiro um pedao de corpo, para as mulheres, isso
funciona de outra forma:
Em relao s mulheres diferente pois por terem um destino de discurso e no
tanto de anatomia, elas devem passar pelo A barrado () do desejo para se
instalarem como parceiro. A mediao do Outro obrigatria a no ser quando
optam pela solido, que se realiza no fantasma, caso s descoberto na anlise
(Soler, 1995, p. 207).
Pela expectativa de fazer-se desejar, mesma expectativa que define o anseio histrico,
a mulher precisa da mediao do Outro. Segundo Soler (1995), o que resulta da a
conexo ao amor e ao desejo, conexo esta que pode visar ao anseio de gozo feminino
ou privao histrica.
66
Outro ponto importante na leitura psicanaltica sobre a feminilidade expresso por Lacan
em 1974-1975, no seminrio, livro 22: RSI, quando comenta sobre a mulher enquanto
sintoma de um homem. A mulher-sintoma seria aquela em que um homem acredita,
acredita tanto que ela pode dizer algo a partir de uma decifrao, como um sintoma. A
partir da equivalncia entre esses dois termos, mulher e sintoma, Lacan (1974-1975)
estabelece uma distino entre a neurose e a psicose. Acreditar numa mulher (ou num
sintoma) seria prprio da neurose; por outro lado, fiar-se nela, ou seja, tornar-se cego por
ela, faz-la de tampo ou rolha, crer que existe A mulher, seria uma caracterstica da
psicose.
Em 1979/2003, Lacan faz uma conferncia, repleta de neologismos, sobre Joyce e o
sintoma. Neste texto, encontra-se a reafirmao da mulher enquanto sintoma de um
homem, localizado em um outro corpo. Caso isso no ocorra, ela se mantm como o
chamado sintoma histrico. tambm nesta mesma conferncia que Lacan (1979/2003,
p. 565) anuncia:
Foi a partir das histricas histricos sintomas de mulheres... - , foi a partir dos
histricos sintomas que a anlise soube tomar p na experincia.
No sem reconhecer desde logo que toduomen [toutom] tem direito a isso. No
apenas direito, mas superioridade...
Depreende-se, pois, destas palavras de Lacan acima transcritas, que a histeria no reduz
sua ocorrncia ao sexo feminino, e que os homens tm no s direito a manifest-la,
mas so superiores s mulheres em matria de histeria.
O postulado lacaniano da mulher-sintoma retomado por Soler (1995) para abordar a
identificao da mulher com o sintoma que ela para o homem. Assim, compreende que
essa identificao designa uma posio de alienao reforada no desejo do outro, o
parceiro, ratificando que as mulheres tendem a fazer concesses para os homens,
prestar-se perverso e fantasia dos parceiros, ao mesmo tempo em que deixam
67
parte
suas prprias fantasias.
Esta
seria
uma
posio
bastante
arriscada
subjetivamente, pois consistiria em responder pergunta do sujeito quem sou?, no
pelo inconsciente do sujeito da dita mulher, mas pelo inconsciente do parceiro (Soler,
1995, p. 121).
Os trs fragmentos de casos expostos na presente pesquisa retratam posies diferentes
daquela que identifica a mulher com o sintoma que para o homem. Embora Accia,
Hera e Rosa encontrem-se emaranhadas em meio a desejos, fantasias e identificaes
que envolvem o Outro, no se pode afirmar que buscam definir quem so atravs do
inconsciente do parceiro. Pelo contrrio, percebe-se que, por vezes, o parceiro
praticamente encoberto diante dos contedos inconscientes dessas mulheres.
Em publicao mais recente, Soler (2005) chama a ateno para o fato de Lacan, em
sua teoria, distinguir os sexos de maneira variada: ter ou ser o falo substitudo, em
alguns momentos, por ter ou ser um sintoma. Esta autora ressalta que falo e sintoma
no so equivalentes; enquanto o primeiro funo negativa de falta, o segundo consiste
em funo positiva de gozo. Para ela (Soler, 2005, p. 181), quando Lacan afirma que a
mulher um sintoma, sua inteno evocar, mais que o objeto do reencontro, mais que
os laos do amor e do desejo, o prprio gozo. Partindo da premissa de que o sintoma
o modo de gozar com o inconsciente, Soler (2005) indica que a mulher-sintoma empresta
seu corpo para que, ao gozar com ela, o homem goze com seu prprio inconsciente e
dessa maneira tenha acesso ao gozo do corpo, o gozo flico.
O fato de emprestar o prprio corpo visando alcanar o gozo flico pode remeter ao
conceito de mascarada, conceito este que se encontra bastante presente no ensino
lacaniano. No item seguinte, busca-se delimitar a noo deste termo e o seu uso na
teoria psicanaltica.
68
2.3. A MSCARA DA FEMINILIDADE
O termo mascarada como referente questo da feminilidade parece ter sido utilizado
originalmente pela psicanalista britnica Joan Rivire (1929/2005), em seu artigo
intitulado A feminilidade como mscara, artigo este, inclusive, citado por Lacan (19571958a; 1966) ao longo de sua obra. Em seu texto, Rivire (1929/2005) expe um caso
clnico para defender a tese de que a feminilidade pode ser utilizada como disfarce no
intuito de encobrir a fantasia de posse do pnis retirado do pai e tambm preservar a
mulher da ameaa de retaliao por parte dos homens. Alm disso, a autora afirma que
no h diferena entre a feminilidade genuna e a mscara: elas so a mesma coisa (p.
17).
Segundo Rivire (1929/2005), algumas mulheres desejam a masculinidade e, nesse
intuito, podem assumir uma posio mascarada de feminilidade para amenizar a
ansiedade e esquivar-se da vingana temida dos homens. No caso de sua paciente,
trata-se de uma mulher que obtinha xito em manifestar publicamente sua capacidade
intelectual, o que equivalia exibio de si mesma em posse do pnis de seu pai, tendoo castrado. Mas, aps essa manifestao, a paciente era atemorizada pela cobrana de
restituio ao pai e passava a oferecer-se sexualmente a homens que representavam a
figura paterna, disfarando-se, ela mesma, de mulher castrada, como forma de
compensar o mal que supostamente havia praticado.
A feminilidade, portanto, podia ser assumida e usada como mscara, tanto para
ocultar a posse da masculinidade, como para evitar as represlias esperadas, se
fosse apanhada possuindo-a; tal como um ladro que revira os bolsos e pede para
ser revistado a fim de provar que no furtou os bens roubados (Riviere, 1929/2005,
p. 16-17).
De acordo com Andr (1987), o mecanismo do sintoma demonstrado pela paciente de
Rivire (1929/2005) funciona em dois tempos. No primeiro, ela reconhecida como
69
possuidora do falo; j no segundo, ela vista como castrada. O objetivo almejado por
essa mulher seria o de se fazer reconhecer como no tendo o falo, mas ela s pode
chegar a este estgio aps passar por um momento em que finge ser portadora dele.
Entretanto,
esses
dois
momentos
so
igualmente
enganadores,
pois,
fundamentalmente, o falo que a mscara por excelncia, o vu lanado sobre este
furo inominvel (Andr, 1987, p. 279).
Rivire (1929/2005, p. 19) tem convico de que, para alm do complexo de castrao,
o fato de a feminilidade poder ser assumida como mscara pode contribuir mais na
direo da anlise do desenvolvimento feminino. Partindo das ideias de Melanie Klein
(1928, citado por Rivire, 1929/2005), ela salienta que a origem das reaes de
rivalidade que sua paciente demonstrava, tanto diante de outras mulheres como diante
de homens, estava atrelada s fantasias sdico-orais em relao aos pais. Como
ressalta Lacan (1957-1958a) a respeito deste caso clnico, o falo no era o alvo almejado
pela paciente naquele momento dado, mas estava relacionado a uma satisfao
fundamental ligada aos personagens parentais.
Por fim, o artigo de Rivire (1929/2005) questiona sobre a natureza essencial de uma
feminilidade inteiramente desenvolvida, apresentando, logo aps, a seguinte resposta:
A concepo da feminilidade como uma mscara, sob a qual o homem suspeita
haver algum perigo oculto, joga um pouco de luz sobre esse enigma. A feminilidade
heterossexual inteiramente desenvolvida est fundada, como afirmaram Hlne
Deutsch e Ernest Jones, no estdio oral da suco. A nica gratificao de ordem
primria a de receber (o bico do seio, o leite) pnis, smen, um filho do pai. No
restante, depende de formaes reativas. A aceitao da castrao, a humildade
e a admirao dos homens provm, parcialmente, da superestima do objeto no
plano da suco oral; mas, sobretudo, da renncia (em menor intensidade) aos
desejos sdicos de castrao derivados do plano posterior da mordida oral. No
devo tomar, no devo ao menos pedir; isto me deve ser dado [grifo da autora]
(Rivire, 1929/2005, p. 22).
Vale ainda destacar uma contribuio importante desta autora a respeito da diferena
entre a mulher normal e a homossexual. que ambas desejam o pnis do pai e se
70
rebelam contra a castrao, porm se distinguem no grau de sadismo e no poder de lidar
com ele e com a ansiedade que da resulta. Em suma, as ideias de Rivire (1929/2005),
deixam transparecer que feminino e masculino guardam entre si certa sobreposio,
podendo a feminilidade ser usada como mscara para escamotear a masculinidade que
j se encontra inerente nela mesma.
Neste ponto, faz-se necessrio esclarecer que, embora o ato de fazer-se de mulher, ou
revestir-se com sua aparncia, se encontre como constituinte da mascarada e possa ser
uma maneira de afirmar a masculinidade da mulher, essa masculinidade feminina no
resultado direto de uma simples bissexualidade inata ao ser humano. Ela produto de
uma interao de conflitos, principalmente de uma defesa contra a angstia. Como
ressalta Andr (1987), j que no h diferena entre a feminilidade verdadeira e o
disfarce, o problema da paciente de Rivire (1929/2005) no residiria na existncia de
uma falsa feminilidade, mas justamente no uso que ela faz dessa feminilidade: ela a usa
como uma defesa contra a angstia, mais do que como um modo de gozo primrio
(Andr, 1987, p. 277-8).
Lacan toma de emprstimo a concepo de Rivire acerca da feminilidade como
mscara para incrementar a sua teoria psicanaltica sobre a mulher. Em 1958a/1998, ele
expressa a formulao de que a mulher, no intuito de ser o falo, compreendido como o
significante do desejo do Outro, vai recusar uma parte essencial da feminilidade, em
especial os atributos da mascarada. Ora, desta afirmao, podemos retirar o seguinte:
em primeiro lugar, a mulher, apresar de castrada, reveste-se do falo porque sabe que
este representa o desejo almejado pelo Outro; em segundo lugar, justamente o fato de
ser castrada, mas, ao mesmo tempo, conseguir disfarar esta condio, que define a sua
essncia.
71
Nota-se, pois, que a diviso provocada pela mascarada atua entre dois plos castrada
e no castrada , e parece ter a funo de escamotear a diviso mais fundamental sob a
qual seria impossvel que a mulher se reconhecesse como sujeito, aquela que Lacan
designa com a frmula do no-todo (Andr, 1987).
No Seminrio, livro 5, Lacan (1957-1958a) adentra de maneira um pouco mais profunda
nestas ideias. Segundo ele, a mulher se encontra presa a um dilema insolvel, que o
de localizar todas as manifestaes tpicas de sua feminilidade. Ela se encontra presa na
busca de sua satisfao, a princpio atravs do pnis de um homem, depois substitudo
pelo desejo de um beb. Para encontrar uma satisfao to intransigente e fundamental
como a maternidade, preciso percorrer os caminhos de uma linha substitutiva. O pnis
antes de tudo um substituto, um fetiche, e o beb o tambm, num certo sentido, o
que faz a mulher unir o que poderia ser chamado de seu instinto e sua satisfao natural.
A mulher se encontra, ento, ligada necessidade implicada pela funo do falo atravs
da linha de seu desejo. Ela responde demanda de ser o falo na medida em que este
o significante do desejo. A feminilidade propriamente dita vista como isto, de acordo
com Lacan (1957-1958): colocar-se na funo do falo, ou seja, de objeto do desejo do
outro. Colocando-se como falo desejado, a mulher se situa mais alm do que remetido
pela mascarada feminina, pois est ligada a uma identificao profunda, a um
significante arraigado sua feminilidade.
A satisfao feminina passa ento por um caminho substitutivo, e seu desejo se
manifesta em um plano ao qual no possvel alcanar sem uma profunda forcluso
(Verwerfung), uma estranheza do seu ser. A mascarada, por sua vez, se estabelece
numa linha de satisfao para o homem, porque no fim das contas ele resolver a
questo do perigo que ameaa o que ele tem efetivamente (Lacan, 1957-1958a).
72
Em 1960a/1998, Lacan tambm comenta sobre a questo da mascarada, aqui
relacionando-a a um defesa simblica e ao papel sexual da mulher. Ele afirma que, no
sexo, o homem serve... de conector para que a mulher se torne esse Outro para ela
mesma, como o para ele (Lacan, 1960a/1998, p. 741). A presena do Outro liberaria,
durante o exerccio do papel sexual, uma defesa simbolicamente comandada, que seria
concebida, primeiramente, na dimenso de mascarada. Seria possvel, no entanto,
modificar esta defesa, atravs de um desvelamento do Outro implicado na transferncia.
Alguns anos mais tarde, Lacan (1962-1963) refora a concepo da mascarada como
uma defesa, ressaltando que, alm da anlise, ela pode ser uma maneira utilizada pela
mulher para superar o penis-neid. E acrescenta que a mascarada trata, na realidade, do
modo mais comum de seduo entre os sexos: oferecer ao desejo do homem o objeto da
reivindicao flica, fazendo de seus atributos femininos os signos da impotncia do
homem.
No Seminrio, livro 13, Lacan (1965-1966) faz um comentrio a respeito do dipo
feminino e a questo da mascarada, tomando como ponto de partida um trabalho de
Ernest Jones (1927, citado por Lacan, 1965-1966). Ele aponta que a mascarada tem a
ver com uma escolha empreendida pela menina a certa altura do seu ciclo de vida. o
momento em que ela, assim como o menino, deve optar entre o objeto amoroso e o seu
sexo. A menina ento privilegia a conservao do seu sexo e, assim, renuncia ao objeto
paterno. Questiona-se, entretanto: de que vale renunciar ao objeto para conservar algo (o
falo) que ser perdido de qualquer maneira? A se situa a mascarada definida por Joan
Rivire (1929/2005), sendo a partir de tal escolha, que consiste no que h de mais
distintivo na prpria feminilidade, que a mulher passa a ocupar o lugar do objeto a
(Lacan, 1965-1966).
73
Assim como o objeto a, a mascarada deve, ao mesmo tempo, disfarar e sugerir; recobrir
o real por onde o corpo est ligado ao rgo e ao objeto da fantasia masculina,
enquanto, por outro lado, sugere a presena de uma feminilidade misteriosa, por detrs
do vu. Como afirma Andr (1987, p. 116), toda a arte do narcisismo feminino consiste,
a partir da, em suspender uma ponta da mscara, de tal sorte que o mistrio, e no o
rgo, parea surgir.
Embora Rivire (1929/2005) marque que a feminilidade genuna e a mascarada so a
mesma coisa e estabelea uma distino entre a mulher dita normal e a homossexual,
encontra-se no Seminrio, livro 13, um pensamento de Lacan (1965-1966) que contradiz
esta ltima ideia. que neste seminrio h uma advertncia a respeito da
incompatibilidade entre os termos mulher e homossexualidade. A partir da leitura de
Jones (1927, citado por Lacan, 1965-1966), Lacan (1965-1966) afirma que h uma
diviso dentro do grupo homossexual. Existem as mulheres que conservam certo
interesse pelos homens, mas tentam se colocar em p de igualdade com eles, sempre se
queixando de sua sorte como mulher e dos maus tratos que sofrem. Estas parecem
conservar, em algum aspecto, o pai enquanto objeto de amor. Por outro lado, tm-se
aquelas cujo interesse est centrado nas mulheres e consiste em um meio substitutivo de
gozar da feminilidade, na medida em que as exibem no seu lugar. Elas renunciam ao pai
como objeto de amor, mas se identificam a ele.
Pode-se dizer, ento, que a figura do homem fundamental na homossexualidade
feminina, pois, mesmo no estando fisicamente presente, ele permanece como
testemunha invisvel, enquanto fantasia (Lacan, 1960a/1996; 1965-1966). atravs da
marca mtica deixada pela incidncia do Nome-do-Pai que a mulher pode ser
reconhecida como aquela cujo gozo se bifurca em flico e mais-de-gozar. Portanto, uma
74
mulher homossexual sempre heterossexual, haja vista que se dedica ao Outro sexo.
Assumir uma postura homossexual ou mascarada pode ser considerado um revestimento
que se agrega prpria composio da feminilidade, o que refora a ideia de que a
homossexualidade, no caso de Accia, um artifcio que resulta da sua identificao
com o pai diante da procura de uma resposta para o enigma da feminilidade.
No s na relao com o seu par sexual, mas tambm na relao da mulher, enquanto
me, com o seu filho, possvel notar a presena da mascarada. De acordo com Lacan
(1969-1970, p. 74), nesta relao, a mulher permite ao gozo ousar a mscara da
repetio; acrescentando: Ela aqui se apresenta como o que , como instituio da
mascarada. Ela ensina seu pequeno a se exibir. Ela conduz ao mais-de-gozar porque
mergulha suas razes, ela, a mulher, como a flor, no gozo mesmo (idem).
J em Televiso, Lacan (1974/2003) enfatiza que, antes de prestar-se s suas prprias
fantasias, a mulher se presta perverso dO homem, assumindo a posio da
mascarada. Desta maneira, ela confronta o homem com a verdade:
Ela se presta, antes, perverso que considero ser dO homem. O que a leva
mascarada que conhecemos, e que no a mentira que lhe imputam os ingratos,
por aderir a O homem. mais o haja-o-que-houver do preparar-se para que a
fantasia dO homem que h nela encontre sua hora da verdade. Isso no
exagero, visto que a verdade j mulher, por no ser toda e no toda a se dizer,
em todo caso (Lacan, 1974/2003, p. 538).
Esta formulao lacaniana que faz equivaler a mulher e a verdade, elementos
impossveis de serem desvelados por completo, encontra reverberao em Andr (1987),
quando este anuncia que a feminilidade s pode ser alcanada pela via de um
semblante. No captulo intitulado Da mascarada poesia, do livro O que quer uma
mulher?, Andr (1987) utiliza o exemplo da problemtica do travesti, exemplificada pelo
caso do Abade de Choisy, para ilustrar as relaes entre a feminilidade e o semblante.
Segundo ele, este caso demonstra que impossvel desmascarar a mulher como tal,
75
porque ela no passa de mscara. Enfim, pode-se dizer que, enquanto no toda flica e
no toda inscrita na linguagem, a mulher necessita da mscara para recobrir esta
inconsistncia e colocar-se como sujeito.
Percebe-se, portanto, que mulher e verdade so termos sobre os quais no se pode
dizer tudo. No captulo subseqente, este tema abordado com maior profundidade,
demonstrando a diferena da noo de verdade no senso comum e na psicanlise, alm
de situ-la tambm dentro dos discursos.
76
3. VERDADE INDIZVEL
3.1. A VERDADE EM PSICANLISE E SUA RELAO COM A MULHER
Pode-se dizer que, quando Freud teoriza sobre a existncia do inconsciente, o termo
verdade passa a adquirir outro carter na clnica. Sob a tica mdica, o diagnstico
pressupe um saber prvio, que orienta a identificao e a classificao dos sinais e
sintomas. Freud contrape-se a essa lgica ao privilegiar a fala como meio de se atingir a
implicao subjetiva. Propondo escutar as histricas para investigar a etiologia das
neuroses, ele descobre que estas se relacionam a uma verdade singular (Freud,
1896/1996).
Em uma leitura freudiana sobre a palavra e a verdade, Garcia-Roza (2001) faz uma
comparao entre a verdade no senso comum e na psicanlise. Este autor declara que,
para o senso comum, a verdade designa o verdadeiro e este o que se apresenta como
real evidncia sensvel, obedecendo ao princpio da no-contradio. J para a
psicanlise, a verdade fundamental a verdade do desejo e os fatos cotidianos no nos
remetem diretamente a ela, mas a oferecem de modo distorcido. Desta forma, a verdade
adquire estatuto de enigma e a psicanlise se apresenta como teoria e tcnica para
decifr-lo.
Ao afirmar que o eu no senhor da sua prpria casa (Freud, 1917a/1996, p. 153), a
psicanlise golpeia o narcisismo do homem e aponta para o enigma da existncia de dois
sujeitos, consciente e inconsciente, um deles sendo totalmente desconhecido para o
outro. Assim, percebe-se que verdade e engano so complementares e no excludentes,
77
posto que justamente na dimenso do engano e do erro que a verdade se manifesta
(Garcia-Roza, 2001).
A questo da verdade em psicanlise remete aos primrdios da teoria freudiana, quando
proposta a investigao da etiologia das neuroses a partir da escuta das histricas. De
incio, Freud (1906/1996) acredita que a seduo por um adulto ou por crianas mais
velhas desempenha um papel crucial na histria infantil do neurtico, no havendo uma
distino entre as iluses de memria e os eventos reais. Posteriormente, no entanto, as
fantasias de seduo so vistas como tentativas de encobrir lembranas da atividade
sexual da prpria criana, a exemplo da masturbao infantil.
Dessa maneira, Freud (1906/1996) alcana a ideia de que a gnese da neurose est
relacionada a um conflito entre a libido e o recalcamento sexual. Segundo ele, as
experincias sexuais que parecem intolerveis ao eu provocam um esforo defensivo e,
em decorrncia, uma diviso subjetiva. Isso faz com que a vivncia intolervel e suas
conseqncias afetivas sejam expulsas da conscincia e da memria, podendo retornar
sob a forma de um sintoma.
Para a psicanlise, o sintoma tem um estatuto de questo, necessitando de uma
decifrao. O sintoma deve ser questionado, para que se saiba a que ele est
respondendo. Em termos freudianos, essa problemtica abordada da seguinte maneira:
o que fez com que o recalque fracassasse, fazendo surgir o seu retorno atravs do
sintoma? Justamente nesse momento de questionamento, de busca de um enigma, h a
histerizao do sujeito, fazendo com que ele se divida (Quinet, 2000).
Em busca de uma resposta para seu sintoma, o sujeito faz um resgate de sua histria,
por meio da fala. Contando sua histria, o sujeito a preenche com elementos da sua
78
subjetividade, o que remete ao conceito de realidade psquica, ou seja, a atribuio de
valor real aos eventos relacionados ao desejo e subjetividade. Procurando entender os
caminhos da formao dos sintomas, Freud (1917b/1996) concluiu que as fantasias
possuem realidade psquica, em contraste com a material, e gradualmente aprendemos a
entender que, no mundo das neuroses, a realidade psquica a realidade decisiva [grifo
do autor] (p. 370).
Como afirma Garcia-Roza (2001), a via da verdade psicanaltica no obedece ao
princpio da no-contradio preconizado pela lgica aristotlica, pelo contrrio, ela se
faz por meio dos equvocos, dos lapsos, dos tropeos, das ambigidades, que
proporcionam um caminho de acesso ao inconsciente.
porque o outro capaz de mentir, que sei que estou em presena de um sujeito.
Se dois interlocutores fossem impedidos de mentir, de enganar, de ocultar, se
fossem obrigados por alguma fora superior a dizer apenas a verdade e nada
mais que a verdade, no poderamos, a rigor, falar de relao intersubjetiva, a
subjetividade cederia lugar objetividade plena. O minto, logo sou ou o
equivoco-me, logo sou, so antecipaes legtimas do cogito, ergo sum de
Descartes (Garcia-Roza, 2001, p. 94).
A teoria lacaniana aborda a verdade a partir de uma impossibilidade. De acordo com
Lacan (1966/1998, p. 882), nenhuma linguagem pode dizer o verdadeiro sobre o
verdadeiro, uma vez que a verdade se funda pelo fato de que fala, e no dispe de outro
meio para faz-lo. Recorrendo ideia de que o inconsciente estruturado como uma
linguagem, o autor postula que essa falta do verdadeiro sobre o verdadeiro
propriamente o lugar do recalque originrio.
No seu primeiro seminrio, Lacan (1953-1954/1986) aborda a significao da palavra,
partindo do conceito de transferncia. Ele explicita que atravs da transferncia,
compreendida no plano simblico, que se ordenaro todos os elementos manifestados
na anlise, revelando um discurso que toma um outro como suporte. Nesse discurso, so
79
encontradas significaes que remetem a outras significaes, as quais, por sua vez,
localizam o sujeito diante dos significantes por ele veiculados.
Deste seminrio, destaca-se a seguinte frase, postulada por Lacan (1953-1954/1986, p.
295) ao analisar um texto de Santo Agostinho, intitulado De Magistro: A palavra, desde
que se instaura, se desloca na dimenso da verdade. S que, a palavra no sabe que
ela que faz a verdade. O som das palavras coloca o sujeito em situaes paradoxais,
posto que ele deve decidir se adere ou no sua verdade, refutando, aceitando ou
duvidando delas. Acrescenta-se, ento, que a palavra se situa no registro do equvoco,
na medida em que carrega em si a ambiguidade semntica e subjetiva.
Observa-se que, em anlise, as aes geralmente chamadas de falhadas so, em
realidade, manifestaes da verdade. Assim, Lacan (1953-1954/1986, p. 302) afirma que
nossos atos falhados so atos que so bem sucedidos, nossas palavras que tropeam
so palavras que confessam, pois revelam uma verdade escondida. E essa verdade
emerge no somente por meio do verbo, mas tambm atravs do corpo do sujeito. A
descoberta trazida por Freud foi justamente esta, a de que a palavra ultrapassa o sujeito
discorrente.
Em 1964/1998, no seminrio sobre os quatro conceitos fundamentais da psicanlise,
Lacan recorre a um exemplo citado por Freud (1905c/1996) em Os chistes e sua relao
com o inconsciente para propor um debate em torno da verdade a partir da dicotomia
entre enunciado e enunciao, concepes estas derivadas da lingstica. O enunciado
consiste numa frase ou sequncia de frases que no apresenta referncia direta s
condies do seu aparecimento, enquanto que a enunciao o ato no decurso do qual
essas frases se atualizam assumidas por um emissor particular, em circunstncias
espaciais e temporais precisas (Ducrot & Todorov, 1982).
80
Em relao enunciao, destacam-se os elementos que pertencem ao cdigo da
lngua, mas cujo sentido varia de uma situao para a outra. Por meio dos pronomes
pessoais, dos pronomes demonstrativos e dos advrbios, a enunciao transmite um
posicionamento daquele que fala. Assim, como afirma Benveniste (1966/1976, p. 280-1),
identificando-se como pessoa nica pronunciando eu que cada um dos locutores se
prope alternadamente como sujeito. psicanlise interessa, pois, o sujeito da
enunciao, ou seja, aquele que, atravs de um movimento retroativo, denuncia a
significao engendrada no prprio eu, revelando a sua verdade singular (Lacan,
1964/1998).
No exemplo freudiano (Freud, 1905c/1996, p. 113) , dois judeus se encontram num
vago de trem. Um questiona ao outro sobre o seu destino, mas, ao receber a verdade
como resposta, indaga: Como voc mentiroso!... Se voc dissesse que ia
Cracvia, voc estaria querendo fazer-me acreditar que estava indo a Lemberg. Mas sei
que, de fato, voc vai Cracvia. Portanto, por que voc est mentindo para mim?.
Lacan (1964/1998) compara esta pequena histria situao de anlise, na qual o
analista, ao escutar o enunciado proferido pelo analisante, lhe remete sua prpria
mensagem em sua significao verdadeira, isto , de maneira invertida. Dessa forma, o
analista est em condies de conduzir o sujeito formulao de que justamente no
momento em que mente que ele diz a verdade.
Tambm nos enunciados proferidos por Accia, Hera e Rosa encontra-se a ciso entre
enunciado e enunciao. Considerando a frase pronunciada por Accia, por exemplo,
tem-se, a princpio, uma denegao da maternidade. No entanto, Freud (1925a/1996) j
postulava em seu texto A negativa, que a negao , em realidade, uma recusa a uma
ideia inconsciente que acaba de ocorrer. De acordo com ele, a negativa constitui um
81
modo de tomar conhecimento do que est reprimido; com efeito, j uma suspenso da
represso, embora no, naturalmente, uma aceitao do que est reprimido (p. 265-6).
Interessa, pois, anlise desta pesquisa, j que baseada nos princpios psicanalticos,
justamente os elementos inconscientes que se encontram por trs da recusa.
Percebe-se que, com o seu enunciado, Accia contraria a lgica aristotlica. Ora, como
se pode parir e no ser me? Para o inconsciente, entretanto, esta uma realidade
possvel. Inconscientemente, Accia utiliza alguns recursos para contradizer a sentena
que seria esperada ouvir de uma jovem com uma filha de dois meses de idade: Eu pari,
logo sou me. Alm da negativa, outro recurso do qual o inconsciente da paciente lana
mo a inverso da frase, que faz com que o fato de ser me no parea uma
concluso lgica.
A proposio dita por Accia pode ser comparada, de certo modo, com o fenmeno da
prtase alucinatria demonstrado por Schreber, conforme apontado por Lacan (19571958b/1998). Enquanto Schreber interrompe as frases no ponto onde se localizam os
termos-ndice aqueles que expressam o sujeito da enunciao, ou seja, os pronomes
pessoais, pronomes demonstrativos e advrbios, tambm chamados de shifters , e as
completa por meio de ideias alucinatrias; Accia utiliza um recurso parecido, mas no
alucinatrio, para contradizer a apdose, isto , a sentena condicionada pela anterior.
Desta forma, ela pode dizer: Eu no sou me, apesar de afirmar que pariu.
Mesmo proferindo uma frase que expressa uma denegao da maternidade, Accia
fornece alguns elementos que a colocam frente ao desejo de ser me. Ela chega a
verbalizar, em uma sesso, a possibilidade de engravidar novamente. Alm disso, seu
corpo parece denunciar uma fantasia de gravidez, uma vez que ela apresenta um
aumento de peso e comparece para alguns atendimentos com uma roupa que lhe
82
confere o aspecto de uma mulher grvida. Estes elementos nos levam a questionar a sua
tentativa de denegao da maternidade.
Em Televiso, Lacan (1974/2003, p. 508) reafirma a impossibilidade de se acessar a
verdade como um todo: Sempre digo a verdade: no toda, porque diz-la toda no se
consegue. Diz-la toda impossvel, materialmente: faltam palavras. por esse
impossvel, inclusive, que a verdade tem a ver com o real.
Ora, sabe-se que o real algo da ordem do indizvel, um vazio em torno do qual o sujeito
circula por meio da palavra. Como ressalta Etkin (1996), o real marca uma dessimetria,
um descompasso, um eterno desencontro; refere-se impossibilidade de alcanar
aquela primeira experincia de satisfao, tenha ela acontecido ou no, pois o que se
pede atravs da demanda no fiel ao que se deseja. No se pode conceber uma
relao absoluta em que o sujeito est totalmente submetido ao desejo do Outro, um
Outro no barrado (Lacan, 1960b/1996).
No que toca a articulao entre a mulher e a verdade, pode-se recorrer s ideias de
Lacan (1969/2003) expressas em Nota sobre a criana. Para ele, quando no h uma
mediao na relao me-filho, de modo que o ideal do eu e o desejo da me se tornam
correspondentes, a criana se transforma em objeto materno, passando a
desempenhar a funo de revelar a verdade desse objeto e alienando em si o acesso
possvel da me sua prpria verdade. Percebe-se, pois, que uma gravidez pode
interferir sobremodo na direo de um processo analtico, fato que j era conhecido por
Freud, que recomendava s suas pacientes o adiamento da deciso de ter um filho
quando iniciavam a anlise (Sauret, 1997/1998).
83
O risco de que a criana se torne um objeto materno abordado por Miller (1998, p. 7),
ao afirmar que a me s suficientemente boa se no o em demasia, se os cuidados
que ela dispensa criana no a desviam de desejar enquanto mulher. Disso
depreende-se que a mulher deve, de alguma maneira, apontar o seu desejo na direo
de um outro objeto que no a criana, pois assim proporciona a transmisso da Lei no
desejo atravs da qual a prpria criana foi gerada. A partir do momento em que h a
introduo da Lei, me e filho encontram-se privados do gozo que obtinham com o corpo
um do outro e devem trilhar seus prprios caminhos em busca da verdade.
Faz-se necessrio advertir sobre o perigo existente tambm no outro plo desta relao,
que ocorre quando a me s se interessa pelo seu homem e, desta forma, no se
encontra dividida ou preenchida pela criana. Sauret (1997/1998) aponta que, nestes
casos, a criana cai como um dejeto. Assim como a criana-objeto, esta que cai como
dejeto no favorece a revelao da verdade em uma mulher. O enigma materno,
portanto, s vem luz pela presena metonmica do desejo na fala, conforme Soler
(2005, p. 229).
J em 1972-1973/1985, no Seminrio, livro 20 (p. 141), Lacan volta a abordar a relao
entre a mulher e a verdade, com a seguinte afirmao: s h uma maneira de poder
escrever a mulher sem ter que barrar o a no nvel em que, a mulher, a verdade. E
por isso que s podemos semi-diz-la. Esta frase vem a corroborar o pensamento de
que a linguagem insuficiente para atingir em sua totalidade tanto a mulher como a
verdade, pois elas se situam, em parte, no terreno do real.
Embora o ser humano seja um servo da linguagem, o real em si impossvel de ser
posto em palavras, por mais que se tente faz-lo. No item seguinte, encontra-se uma
84
explanao a respeito da dissimetria entre a palavra e a verdade, a partir da teoria dos
quatro discursos de Lacan (1969-1970/1992).
3.2. A VERDADE NOS DISCURSOS DA PSICANLISE
Em 1969-1970/1992, Lacan postula que o discurso se compe de uma estrutura
necessria que ultrapassa as palavras. De acordo com ele, o discurso, mesmo sem
palavras, pode subsistir em certas relaes fundamentais, ainda que estas no consigam
se manter sem a linguagem. A teoria dos discursos expe um dispositivo que estrutura o
lao social, demarcando diferentes maneiras de tratamento do gozo na relao entre o
sujeito e o Outro. Nesse dispositivo, expe-se um sistema de quatro patas, no qual
alguns lugares esto predeterminados: o agente (ou o desejo), o outro (ou o trabalho), a
produo (ou a perda) e a verdade, da seguinte forma:
agente
verdade
outro
produo
Figura 4 (Lacan, 1969-1970, p. 87, p. 161).
Verificando a posio do agente, alcana-se o discurso no qual est situado o sujeito,
mas necessrio advertir que os discursos variam conforme a situao e no esto
ligados necessariamente a diagnsticos. Em suma, eles se referem a posies
subjetivas, e no a estruturas clnicas. o prprio discurso que vai fundar as realidades
plurais do sujeito (Souza, 2003).
Sujeito ($), significante-mestre (S1), saber (S2) e objeto a (a) so os elementos que
ocupam esses lugares e, na medida em que fazem um quarto de giro, do origem a
85
discursos distintos: do universitrio (U), do mestre (M), da histrica (H) e do analista (A).
Estes so os chamados discursos radicais da teoria lacaniana.
Figura 5 (Lacan, 1969-1970/1992, p. 37).
Souza (2003) afirma que a noo de discurso fundada a partir da conexo entre o lugar
do agente e o lugar do outro. Deste modo, concebe-se uma lgica que se desenrola no
apenas nos diferentes momentos de um processo analtico, mas tambm na prpria cena
social. Como este autor observa, ao longo dos tempos, os lugares do agente e do outro
tm sido ocupados por diversos pares, a exemplo do senhor e o escravo, o homem e a
mulher, o analista e o analisante.
Seguindo a ordem mostrada na figura 5, tem-se primeiramente o discurso universitrio,
onde o saber (S2) colocado no lugar do agente. Nota-se que este saber difere
totalmente do saber inconsciente; trata-se de um saber organizado, cumulativo, e seu
detentor aquele que se torna capacitado a ensinar, sendo importante nesse discurso a
titulao e a autoria. No entanto, Lacan (1969-1970/1992) adverte que, quando trabalha,
o saber produz uma entropia. que esse um discurso conservador, que evita a
produo de novos significantes; alm do mais, o Saber que o comanda no tem
qualquer relao com o sujeito ($) e no pode ser todo ensinado, algo sempre sobra
(Souza, 2003).
Para formular o discurso do mestre, Lacan (1969-1970/1992) se valeu de ideias retiradas
de Hegel e Marx. No lugar do agente desse discurso, encontra-se o significante-mestre
(S1), que adquire o estatuto de lei. Pelo seu comando, o outro, tomado como escravo,
86
impelido a trabalhar na tarefa de fazer surgir um saber, um know-how que o escravo
obtm ao realizar o seu trabalho. Nesse discurso, a produo assume estatuto de objeto
a (a) e oferecida ao senhor, representado pelo S1. Por outro lado, como aponta Souza
(2003), no lugar da verdade est o sujeito ($), que revela o recalcamento do desejo e o
prprio ocultamento da castrao do senhor.
o discurso da histrica que vem enfatizar o desejo, apresentando o sujeito dividido ($)
no lugar do agente. Dessa maneira, o sujeito busca o significante-mestre (S1) e,
colocando o seu sintoma em questo, convoca-o a trabalhar e a responder sobre o seu
sofrimento. Esse discurso reflete, pois, a posio do analisante, movido pelo desejo de
saber. Cabe ressaltar que, mesmo sendo produzido um saber (S2) sobre o seu sintoma,
o analisante continua a ignorar o real (a) que provoca seu sofrimento, porque a verdade
sobre ele no pode ser totalmente revelada. Assim, a insatisfao do desejo da histrica
nasce dessa pergunta que ela mantm sempre em suspenso, uma pergunta que, no se
calando, no encontra sua resposta (Souza, 2003, p. 116).
A utilizao do discurso da histrica, no feminino, pode levantar algumas questes. Vale
esclarecer que a passagem por esse discurso no privilgio da mulher. Muitos
homens se analisam e, s por este fato, so forados tambm a passar pelo discurso
histrico, pois essa a lei, a regra do jogo (Lacan, 1969-1970/1992, p. 31). No entanto,
sabe-se que foram as pacientes mulheres de Freud que inauguraram esse discurso ao
interrogarem-no sobre seus sintomas, possibilitando a emergncia de um sujeito
motivado pelo desejo de saber saber sobre o valor que elas prprias tm diante do
Outro.
O discurso do analista apresenta o objeto a (a) no lugar do agente, que se dirige a um
sujeito ($), no lugar do outro. De acordo com Lacan (1969-1970/1992), a posio do
87
psicanalista se articula ao objeto a na medida em que este objeto designa a opacidade
dos efeitos do discurso. O analista assume, ento, a funo de semblante de objeto,
instituindo a histerizao do discurso. Apesar de ser portador de um tipo de saber, o
analista no o utiliza em benefcio prprio, mas sim para manter o desejo do analisante e
incit-lo na produo de significantes (S1) que o levaro construo de um saber (S2)
ligado verdade do inconsciente.
De acordo com Souza (2003), os discursos se inscrevem, de um ponto de vista lgico,
guardando dois tipos de impedimento: uma impotncia e uma impossibilidade. A
impotncia se refere condio de que sempre existir um limite, uma barreira ao
gozo, entre o lugar de agente e o lugar do outro, pois, por mais que o sujeito faa uso
das palavras, nunca encontrar respostas suficientes sobre o que ele ou quem ele , j
que as palavras no dizem tudo. Quanto impossibilidade, o autor pontua que ela
designa uma disjuno entre o lugar da verdade e o lugar da produo. Isso quer dizer
que nenhum vetor ou mesmo nenhum elemento poder alimentar o lugar da Verdade
[grifo do autor] (Souza, 2003, p. 105).
A partir da, pode-se depreender que, em cada discurso, haver algo que escapa, no
lugar da verdade. No discurso do mestre, esse lugar ocupado pelo sujeito ($),
indicando que ele no se apropria do que produzido nessa relao de dominao. No
discurso da histrica, a verdade que ela prpria tomada como objeto. No discurso
universitrio, por sua vez, a verdade que no possvel alcanar a inteno do sujeito
que a inaugurou, posto que s se tem acesso ao seu enunciado, mas no sua
enunciao. E, por fim, no discurso do analista, o saber no lugar da verdade no quer
88
dizer que se esgote o saber inconsciente, porm o sujeito pode vislumbrar que no lugar
da verdade no est excludo um saber8.
Alm dos quatro discursos radicais, surge um quinto discurso, que faz exceo aos
primeiros. Trata-se do discurso capitalista, formulado a partir das interrogaes de Lacan
sobre o lugar da psicanlise na cultura e a posio do analista. Para escrev-lo,
necessrio fazer uma pequena modificao a partir do discurso do mestre, permutando
os termos que se encontram esquerda, no lado do agente, e conservando os termos
direita, no lado do outro. Da resulta a seguinte estrutura:
Discurso capitalista
S
S1
S2
Figura 6 (Souza, 2003, p. 134).
Lacan (1969-1970/1992; 1970/2003; 1971-1972; 1974/2003) se refere ao discurso
capitalista em diversos momentos de sua obra, contudo, a formalizao desse discurso
teria ocorrido somente durante uma jornada de trabalho em Milo, no ano de 1972, como
aponta Souza (2003). Pode-se dizer que a diferena crucial entre o discurso do mestre e
o discurso capitalista se d justamente em torno do saber (S2). que o saber do
proletrio lhe devolvido de maneira subvertida, como um saber de senhor, o que pode
ser notado pela direo das setas na figura acima. Transmudado dessa maneira, o saber
passa a circular no mercado, assumindo um determinado valor de uso e de troca.
Pois este precisamente o S2 do senhor, mostrando o cerne do que est em
jogo na nova tirania do saber. Isto o que torna impossvel que nesse lugar
aparea, no curso do movimento histrico como tnhamos, talvez, esperanas
-, o que cabe verdade (Lacan, 1969-1970/1992, p. 30).
8
Concluses feitas a partir de aula de 10 de outubro, 2008, proferida por Teixeira, convidado da disciplina
Sujeito e Psicanlise (Programa de Ps-Graduao em Psicologia Universidade Federal da Bahia).
89
Dentro desse sistema, o capitalista , pois, o mestre moderno, e os trabalhadores
passam a ser interpretados tambm como mercadoria: so eles prprios produtos, como
se diz, consumveis tanto quanto os outros (Lacan, 1969-1970/1992, p. 30). Alm disso,
o discurso capitalista promove um certo tipo de rechao da castrao, uma operao de
Verwefung, que causa um apagamento da subjetividade do sujeito, de acordo com Lacan
(1971-1972). Por meio da grande oferta de objetos, busca-se saturar o sujeito e
tamponar sua falta, anulando toda a questo do desejo. Emerge, ento, no contexto do
discurso capitalista, a figura do gadget.
Gadget uma palavra inglesa que pode ser traduzida por dispositivo, inveno,
engenhoca, buginganga. Na linguagem tecnolgica, designa aquele produto que tem
forte apelo comercial e que se torna cobiado por todos os que se encontram
minimamente inseridos no mercado de consumo. Como afirma Souza (2003), a partir do
discurso capitalista, os gadgets surgem adquirindo uma certa substancializao e
despertam o interesse do consumidor, sendo o sujeito comandado pela presena do
objeto ($ a). vlido atentar que os gadgets do a impresso de serem objetos
desejados, no entanto, esse desejo s surge a partir do momento em que eles so
ofertados.
Observa-se que, diferente dos discursos radicais, o discurso capitalista no favorece a
constituio do lao social entre os seres humanos, mas sim o estabelecimento de uma
relao materialista e perversa com o Outro. Conforme Quinet [grifo do autor] (20079),
esse discurso promove um autismo induzido e um empuxo-ao-onanismo fazendo a
economia do desejo do Outro e estimulando a iluso de completude no mais com a
Como o documento utilizado foi do tipo eletrnico, no foi possvel indicar a pgina a que corresponde a
citao.
90
constituio de um par, e sim com um parceiro conectvel e desconectvel ao alcance
da mo.
Por se organizar em torno de uma circularidade completa, em que todos os elementos
apresentam alguma espcie de ligao, o discurso capitalista fornece uma ideia de
conjuno entre o lugar da verdade e o lugar da produo. Assim, a verdade passa a ser
algo potencialmente capaz de ser todo alcanado. Embora Lacan (1974/2003) afirme
que o discurso cientfico tem quase a mesma estrutura que o discurso histrico, nota-se
que as cincias acabam se revestindo do discurso capitalista, desenvolvendo saberes
em larga escala.
Como aponta Quinet (2007), o saber cientfico comandado pelo significante-mestre do
capital. Na medida em que financia as pesquisas, patrocina os pesquisadores e induz a
adequao do saber poltica dos resultados, o capital promove uma diluio da
cincia em meio tecnologia. Dessa maneira, o saber cientfico impulsionado a
produzir uma grande quantidade de objetos (S2 a), que sero consumidos pelos
pequenos outros. Verifica-se, ento, um apetite voraz dos sujeitos pelos medicamentos
e todo tipo de intervenes cientficas que, ilusoriamente, vendem a conquista da
felicidade.
Pode-se constatar a presena do discurso capitalista em diversos contextos da
sociedade contempornea, inclusive no campo da fertilidade humana. A chamada
medicina do desejo, expresso utilizada para se referir aos recursos cientficos que do
conta da reproduo assistida, demonstra uma incongruncia, na medida em que a
demanda das mulheres que essa medicina pretende resolver meramente induzida e
sugerida. Como numa publicidade, promove-se justamente aquilo com que se sonha, no
caso o desejo, no porque no se o tenha, mas para dar a acreditar que no se o tem,
91
declara Chatel (1995, p. 66). Nota-se, portanto, o perigo que a reside, a depender da
forma como estabelecido o lao entre a mulher e a criana.
No caso de Hera, poder-se-ia questionar se ela no se encontra enredada nas
artimanhas do consumo. O filho desejado teria se tornado um produto, um objeto que,
ilusoriamente, transmite a ideia de satisfao? A boneca, comumente utilizada pelas
crianas para substituir o beb da brincadeira de casinha, parece revelar, atravs da
proposio da paciente, o filho se tornou um objeto de consumo, um gadget. Esta ideia
reforada pelo fato de Hera demonstrar, em sua frase, ser atrada pelo aspecto esttico
da boneca, assim como ocorre comumente na relao com os bens de consumo. O filho,
ocupando o lugar de objeto, adquire tamanha substancializao que mimetizado
atravs da boneca.
Pode-se inferir, deste modo, que Hera est inserida no discurso capitalista, o qual se
apresenta a ela sob a roupagem do discurso cientfico. Agarrando-se promessa de
completude proporcionada por um filho/gadget, ela busca todos os recursos disponveis
que a medicina possa lhe oferecer para alcanar seu objetivo, especialmente
medicamentos que ela acredita serem capazes de limpar seu tero e facilitar a
fecundao. Assim, esta mulher vivencia constantemente um ciclo que varia da
expectativa em torno da gravidez frustrao diante da constatao de que ainda no
est grvida. A linha de equao simblica, na qual sucedem falo e beb, seria
modificada de modo a equiparar o beb ao gadget, este objeto que comanda o sujeito
atravs da sua presena.
Beb
Beb
Falo
Gadget
Figura 7.
92
J se sabe que o discurso capitalista provoca a saturao do desejo e um tamponamento
da falta, atravs da oferta frentica de objetos de consumo. Como se situaria, ento, a
psicanlise em meio a esse turbilho do capital? De acordo com Quinet (2007), a
psicanlise se contrape ao discurso capitalista, na medida em que opera com a tica da
falta-a-ter, que enfatiza o desejo, e o gerenciamento do capital, mas este no financeiro,
e sim da libido. Desta maneira, a psicanlise promove uma tica da diferena. somente
tendo esta tica como norte que se faz possvel escutar o enunciado proferido por Hera e
perceber que, em realidade, sua busca incessante pela maternidade encobre o seu
desejo.
93
4. CONSIDERAES FINAIS
Quando algum se dispe a desenvolver uma pesquisa em psicanlise, deve-se estar
ciente de que esta teoria aponta para um limite ao saber. Na temtica do presente
trabalho, os termos mulher e verdade, eleitos como elementos principais para a
investigao, demonstram em si a impossibilidade de serem abarcados como um todo.
Ainda assim, considera-se que possam ser fornecidas aqui algumas contribuies
relevantes para se pensar a questo do feminino sob o vis da psicanlise.
No de hoje que a mulher tomada como objeto de uma grande produo de saberes,
mas, apesar de tantos esforos por desvend-la, ela permanece envolta em uma aura de
mistrio. Talvez o fato de poucos terem lhe dado voz tenha contribudo para que isso
ocorresse. No entanto, como a teoria lacaniana aponta, acima de tudo, pela falta de um
significante que a defina, a mulher no-toda e, enquanto tal, no se pode dizer tudo
sobre ela.
A associao entre a mulher e a maternidade remonta aos primrdios da civilizao e,
at os dias atuais, apresenta seus resqucios. Importantes mudanas sociais fizeram com
que a associao entre estes dois termos, antes vista como algo natural, fosse
questionada, passando-se a enfatizar a vontade consciente das mulheres sobre a
deciso de ter ou no um filho.
Com a psicanlise, entretanto, tem-se a hiptese de que nem todos os atos humanos so
controlados ou determinados pela vontade consciente. H pensamentos que se situam
no terreno do inconsciente e esto, a todo momento, prontos para advir, medida que o
sujeito do desejo se manifeste. Nota-se que tambm na situao de gravidez estes
94
desejos esto presentes e interferem sobremaneira na forma como a mulher lidar com a
gestao e suas consequncias.
A escuta das falas de algumas mulheres em um contexto que envolve a maternidade e a
verdade fez emergir a problemtica da pesquisa. A suposio de que seus ditos revelam
algo de sua singularidade levaram escolha de trs fragmentos de casos clnicos:
Accia, Hera e Rosa, articulando-os aos conceitos de maternidade, feminilidade e
verdade nas teorias de Freud e Lacan. Percebe-se que os impasses vivenciados por
estas mulheres diante do tornar-se me as conduzem a uma verdade indizvel.
Logo de incio, todas as trs pacientes demonstram, com os enunciados por elas
proferidos, a ciso existente entre enunciado e enunciao, ciso esta que deixa antever
o fato de coexistirem duas realidades ao mesmo tempo: uma, material, e outra, psquica,
sendo esta ltima a que d acesso verdade do inconsciente. Embora isto possa ser
apontado como uma semelhana entre estas mulheres, preciso escut-las no caso a
caso para que se possa vislumbrar como se posicionam no percurso da feminilidade.
No caso de Accia, percebe-se a recorrncia a uma postura homossexual, que est
relacionada identificao com a figura paterna e acionada como recurso inconsciente
na tentativa de alcanar a feminilidade, como ocorre com Dora e a jovem homossexual,
ambas analisadas por Freud. A homossexualidade parece ser utilizada por esta paciente
tambm como uma forma de rivalizar com os homens e exaltar, assim, a feminilidade.
Este fragmento de caso clnico pode representar, portanto, uma contradio ideia que
tende a associar a homossexualidade feminina masculinidade.
Hera exemplifica a concepo freudiana segundo a qual o desejo de dar luz um beb
ocorre em substituio ao falo, ao longo de uma linha de equao simblica. Ao
95
identificar-se com a sobrinha, essa mulher evidencia uma atitude regressiva e deposita
as expectativas do encontro com a feminilidade no fato de tornar-se me. Sabe-se que a
mulher no definida pela sua capacidade de gestar filhos, entretanto, a maternidade
pode ser uma tentativa de fazer inscrever a relao sexual e revestir a falta que marca o
ser falante.
Por no existir, do lado feminino, um significante que o defina, homem e mulher abordam
um ao outro, enquanto parceiros, de maneira dissimtrica. Pode-se dizer que o desejo
masculino aponta para uma s direo, que o objeto a, e visa unicamente ao gozo
flico; j o desejo feminino se bifurca, sendo conduzido ao gozo flico e tambm ao gozo
Outro. Isso contribui para que o desejo da mulher seja sempre uma incgnita e se faa
necessrio analis-las uma a uma.
Tomando a concepo de desejo da me elaborada por Lacan, nota-se que o desejo
em relao ao filho, comumente chamado amor materno, no est atrelado situao
biolgica de gravidez, como demonstrado por Rosa. A sua dificuldade em estabelecer um
lao afetivo com o filho que est esperando reside no fato de que este no se apresenta
a ela como lhe oferecendo o falo. Alm disso, percebe-se que a criana no vem dividi-la
entre me e mulher.
Levanta-se ainda a possibilidade de que a resistncia de Rosa em inscrever o filho numa
ordem simblica esteja relacionada a uma tentativa de evitar o encontro com o real
personificado atravs da criana e o consequente reconhecimento de sua falta flica. Por
outro lado, a forte proximidade que ela apresenta com a filha adotiva parece ser
explicada como uma tentativa de elucidao do enigma da feminilidade pela via da
identificao. Sendo testemunha da transformao da filha em mulher, ela estaria
respondendo aos seus prprios anseios.
96
Mulher e histrica so termos que geralmente se confundem na prtica clnica, como se
houvesse uma tendncia das mulheres em relao a um tipo de neurose. Embora a
histeria possa ser considerada um dos caminhos pelos quais algumas mulheres
enveredam na busca pela feminilidade, adverte-se que seu funcionamento e
caractersticas so bastante peculiares.
A expresso ser o falo foi utilizada em alguns momentos do ensino lacaniano para
referir-se tanto posio feminina na relao sexual como a um tipo de identificao
histrica. Isso parece ter contribudo para o equvoco que atrela a histeria ao feminino.
importante destacar, porm, que, enquanto a posio da mulher diz respeito a um lugar
no par sexual, como complemento do desejo masculino, a histrica se identifica ao falo,
constitudo como significante do desejo, o que inviabiliza que se situe como objeto de
gozo.
Na medida em que o que define a posio histrica justamente a vontade de deixar o
gozo insatisfeito, introduzindo um menos na consumao do gozo sexual, pode-se dizer
que Accia apresenta algumas semelhanas com o modo de funcionamento histrico.
Nota-se que o seu envolvimento com diversos parceiros, mesmo sem alcanar qualquer
sensao de prazer, se equipara procura da histrica em torno do objeto algamtico e
sua eterna insatisfao.
importante ressaltar o pensamento lacaniano que coloca lado a lado os termos mulher
e sintoma, permitindo inclusive estabelecer uma distino entre as estruturas clnicas
neurtica e psictica. Quando o sujeito cr que A mulher existe, tornando-se cego por
ela, ele se encontra no terreno da psicose. Esta situao seria perigosa no s para o
homem, mas tambm para a mulher, pois, quando ela se identifica ao sintoma que para
97
o homem, assumindo uma posio de alienao reforada no desejo do outro, corre o
risco de se definir atravs do inconsciente do parceiro.
Pode-se dizer que esta situao no verificada nos fragmentos de casos expostos aqui.
Apesar de Accia, Hera e Rosa, por vezes, manifestarem significantes que vm do outro,
elas no tomam estes significantes de modo to pregnante ao ponto de definir quem so
somente atravs deles, mas tambm por meio dos seus prprios contedos.
Levando-se em conta a ideia de que o sintoma o modo de gozar do inconsciente,
afirma-se que a mulher-sintoma aquela que empresta seu corpo para que, ao gozar
com ela, o homem goze com seu prprio inconsciente e, assim, tenha acesso ao gozo do
corpo, que o gozo flico. Ao emprestar seu corpo para que o parceiro alcance o gozo
flico, a mulher parece assumir o lugar de semblante, o que remete ao conceito de
mascarada.
Este conceito revela que feminino e masculino guardam entre si certa sobreposio,
podendo a feminilidade ser utilizada como mscara para esconder a masculinidade que
se encontra inerente nela mesma. Tal pensamento pode ser utilizado para reforar a
concepo lacaniana segundo a qual os termos mulher e homossexualidade so
considerados antitticos. Expressando que a figura do homem sempre fundamental na
homossexualidade feminina, pois, mesmo no estando presente fisicamente, ele
permanece na fantasia da mulher, Lacan afirma que uma mulher homossexual sempre
heterossexual.
Diante desses argumentos, conclui-se que a postura homossexual e de mascarada
podem ser consideradas revestimentos que se agregam prpria composio da
98
feminilidade, reafirmando a ideia de que a homossexualidade de Accia , em realidade,
um artifcio para lidar com a feminilidade.
Assumindo a posio de mascarada, a mulher favorece o confronto do homem com a
verdade, posto que ambas so no-todas. por isso que a feminilidade s pode ser
alcanada pela via de um semblante, no existindo diferena entre a feminilidade
genuna e a mascarada. O mesmo ocorre com a verdade, sobre a qual s se pode semidizer.
A verdade em psicanlise se contrape verdade do senso-comum, na medida em que
no obedece ao princpio da no-contradio preconizado pela lgica aristotlica e
enfatiza uma verdade do inconsciente, que singular para cada sujeito e se manifesta
atravs dos equvocos, sonhos, lapsos, sintomas. por meio da fala que se pode
vislumbrar um caminho para a verdade, no entanto, como a linguagem demarca uma
falta, encontra-se a uma impossibilidade.
De acordo com a teoria lacaniana, as palavras proferidas pelo sujeito fazem com que
deixe transparecer os seus desejos, o que pode ser comprovado atravs da dicotomia
entre enunciado e enunciao. psicanlise interessa o sujeito da enunciao, porque
ele que, atravs de um movimento retroativo, denuncia a significao engendrada no
prprio eu, deixando antever a sua verdade singular.
Tomando como exemplo a frase proferida por Accia, pode-se questionar a situao de
maternidade, sendo inclusive possvel, para a realidade do inconsciente, que se tenha
um parto, mas no se torne me. Atravs de alguns recursos, o inconsciente da paciente
pode contradizer a sentena que se espera ouvir de uma jovem com uma filha pequena,
99
colocando-a num outro lugar frente maternidade e fornecendo elementos para que
vislumbre a sua verdade singular.
A articulao entre a mulher e a verdade pode ser utilizada para se fazer algumas
reflexes a respeito da relao me-filho. Sabe-se que, quando no h uma mediao na
relao da me com a criana, esta pode transformar-se em objeto materno, dificultando
o acesso da me sua prpria verdade. Por isso importante que a mulher direcione
seu desejo tambm para um outro objeto, favorecendo a transmisso da lei no desejo por
meio do qual a prpria criana foi gerada.
Retomando o contexto que serve como pano de fundo para a apresentao da
problemtica inicial desta pesquisa, ou seja, a questo da presuno de veracidade,
cabe destacarmos a diferena crucial existente entre a concepo de verdade na teoria
psicanaltica e a verdade no campo jurdico. Se, para esta ltima, considerado
verdadeiro aquilo que se atm aos fatos e passvel de comprovao, para a primeira, a
verdade diz respeito realidade psquica e se compe de desejos e fantasias
inconscientes.
Os discursos da psicanlise tornam-se teis para demonstrar a dissimetria existente
entre a palavra e a verdade, alm de demarcar diferentes maneiras de tratamento do
gozo na relao entre o sujeito e o Outro. Nos quatro discursos radicais, o sujeito, o
significante-mestre, o saber e o objeto ocupam lugares predeterminados, constitudos
pelo lugar do agente, do outro, da produo e da verdade. medida que fazem um
quarto de giro, estes elementos do origem a quatro diferentes discursos: do
universitrio, do mestre, da histrica e do analista, cada um com suas propriedades.
100
Cabe destacar aqui que estes quatro discursos mantm entre si dois tipos de
impedimento, a saber, a impotncia e a impossibilidade. A primeira se refere a uma
barreira ao gozo, existente entre o lugar do agente e o lugar do outro, pois, por mais que
o sujeito faa uso das palavras, nunca encontrar respostas suficientes sobre o que ou
quem ele . A segunda determina uma disjuno entre o lugar da verdade e o lugar da
produo, posto que nenhum elemento poder preencher o lugar da verdade. Em suma,
sempre h algo que escapa em relao verdade, ou, como afirma Lacan (19721973/1985; 1974/2003), a verdade sempre no-toda.
Acrescenta-se aos quatro discursos radicais o discurso do capitalista, produzido a partir
de uma toro do discurso do mestre. Neste novo discurso, o saber obtm estatuto
diferenciado, visto que transmudado e passa a circular no mercado, assumindo valor
de uso e de troca. nesse contexto que surgem os gadgets, objetos que adquirem
substancializao e passam a comandar o sujeito. O que resulta da um rechao da
castrao, que causa o apagamento da subjetividade do sujeito e o tamponamento da
falta.
Pode-se dizer que o discurso capitalista est presente em diversos campos da sociedade
contempornea, inclusive no terreno da fertilidade humana. Na medida em que as
tcnicas de reproduo oferecem um produto que apresentado ao sujeito como algo
que lhe proporcionar a completude, no caso, um filho, faz crer que exista a um desejo
de t-lo.
O caso de Hera , ento, trazido baila para questionar se ela no se encontraria
seduzida pelo discurso capitalista e, desta forma, o filho desejado teria se tornado um
objeto que, ilusoriamente, transmite a ideia de satisfao. A linha de equao simblica,
na qual sucedem o falo e o beb, seria modificada de modo a equiparar o beb ao
101
gadget, provocando uma colagem promessa de completude e uma busca incessante a
todos os recursos que facilitem o alcance do seu objetivo.
Enfim, pode-se concluir que os trs fragmentos de casos retratados na presente
pesquisa demonstram diversos percursos trilhados por essas mulheres em busca da
feminilidade. Embora todos eles apresentem alguma relao com a maternidade, nota-se
que esta situao ultrapassada e aponta para outras questes que dizem respeito
verdade singular das pacientes.
Ficam as sugestes para o desenvolvimento de trabalhos futuros sobre esta temtica,
talvez aprofundando as repercusses da medicina da procriao na subjetividade dos
indivduos que vivenciam os seus avanos, a questo dos imbrglios frente relao
entre os sexos ou relao me e filho, bem como a articulao entre a violncia sexual,
o aborto e a verdade. Espera-se que, mesmo evidenciando os limites ao saber, esta
pesquisa tenha contribudo para fomentar reflexes quanto s questes que concernem
o feminino, chamando ateno para a necessidade de escutar as mulheres em sua
singularidade.
102
REFERNCIAS
Andr, S. (1987). O que quer uma mulher? Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Arago, A. R. (2005). Filhos... Filhos? Melhor no t-los.... In Fernandes, A. H., Santos,
A. de S. C. (Orgs.). Questes cruciais para a psicanlise (pp. 107-116). Salvador:
Edufba.
Badinter, E. (1985). Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira.
Benveniste, . (1966). Problemas de lingstica geral. So Paulo: Ed. Nacional, Ed. da
Universidade de So Paulo, 1976.
___________ (1974). Problemas de lingstica geral II. Campinas, SP: Pontes, 1989.
Birman, J. (2001). Mal-estar na atualidade: A psicanlise e as novas formas de
subjetivao. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira.
Birman, J. (1999). A ddiva e o Outro: sobre o conceito de desamparo no discurso
freudiano. PHYSIS: Revista de Sade Coletiva, 9(2), 09-30.
Borsoi, P. (1995). Da me mulher: questes sobre o feminino. In Centro de Estudo e
Pesquisa em Psicanlise com Crianas CEPACC (1995). Fort-da, 3 (pp. 23-31). Rio
de Janeiro: RevinteR.
Brando, J. de S. (1999). Mitologia Grega (Vol. III). Petrpolis, RJ: Vozes.
Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamentos de Aes
Programticas Estratgicas. rea Tcnica de Sade da Mulher (2005). Preveno e
Tratamento dos Agravos Resultantes da Violncia Sexual contra Mulheres e
Adolescentes: norma tcnica (2 ed. atual. e ampl.). Braslia: Ministrio da Sade.
Campos, S. de (2009). O DSM e o gro do sinthoma. Recuperado em 03 de maro, 2010,
de: http://www.institutopsicanalise-mg.com.br/horizontes/textos/sergiocampos.pdf.
Chatel, M.-M. (1995). Mal-estar na procriao: as mulheres e a medicina da reproduo.
Rio de Janeiro: Campo Matmico.
103
Creswell, J. W. (2007). Projeto de pesquisa: mtodos qualitativo, quantitativo e misto (2
ed.). Porto Alegre: Artmed.
Ducrot, O. e Todorov, T. (1982). Dicionrio das cincias da linguagem. Lisboa:
Publicaes Dom Quixote.
Etkin, G. (1996). Uma introduo a Lacan: o Real e a metfora paterna. Salvador:
Mthesis.
Ferreti, M. C. G. (2004). O infantil: Lacan e a modernidade. Petrpolis, RJ: Vozes.
Figueiredo, A. C., Nobre, L. e Vieira, M. A. (2001). Pesquisa clnica em psicanlise: a
elaborao de um mtodo. In Figueiredo, A. C. (org.). Psicanlise: pesquisa e clnica
(pp. 11-23). Rio de Janeiro: Edies IPUB/CUCA.
Freud, S. (1937). Anlise terminvel e interminvel. In Obras psicolgicas completas de
Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. XXIII, pp. 223-270). Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
_______ (1933). Conferncia XXXIII: Feminilidade. In Obras psicolgicas completas de
Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. XXII, pp. 113-134). Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
_______ (1931). Sexualidade feminina. In Obras psicolgicas completas de Sigmund
Freud: Edio standard brasileira (Vol. XXI, pp. 229-251). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1925a). A negativa. In Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud:
Edio standard brasileira (Vol. XIX, pp. 261-269). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1925b). Algumas conseqncias psquicas da distino anatmica entre os
sexos. Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira
(Vol. XIX, pp. 271-286). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1924a). O problema econmico do masoquismo. In Obras psicolgicas
completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. XIX, pp. 173-188). Rio
de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1924b). A dissoluo do complexo de dipo. In Obras psicolgicas completas
de Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. XIX, pp. 189-199). Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
104
Freud, S. (1920a). Alm do princpio do prazer. In Obras psicolgicas completas de
Sigmund Freud: Edio standard brasileira. (Vol. XVIII, pp. 13-75). Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
_______ (1920b). A psicognese de um caso de homossexualismo numa mulher. In
Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira. (Vol.
XVIII, pp. 155-183). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1919a). Sobre o ensino da psicanlise nas universidades. In Obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira. (Vol. XVII, pp.
183-189). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1919b). Uma criana espancada: uma contribuio ao estudo da origem das
perverses sexuais. In Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud: Edio
standard brasileira. (Vol. XVII, pp. 193-218). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1917a). Uma dificuldade no caminho da psicanlise. In Obras psicolgicas
completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira. (Vol. XVII, pp. 143-153). Rio
de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1917b). Conferncia XXIII: Os caminhos da formao dos sintomas. In Obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. XVI, pp.
361-378). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1915). O inconsciente. In Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud:
Edio standard brasileira (Vol. XIv, pp. 165-222). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1913). Sobre a psicanlise. In Obras psicolgicas completas de Sigmund
Freud: Edio standard brasileira (Vol. XII, pp. 221-229). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1912). A dinmica da transferncia. In Obras psicolgicas completas de
Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. XI, pp. 107-119). Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
_______ (1906). Minhas teses sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses.
In Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol.
VII, pp. 255-265). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1905a). Fragmento de anlise de um caso de histeria. In Obras psicolgicas
completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. VII, pp. 13-116). Rio de
Janeiro: Imago, 1996.
105
_______ (1905b). Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade. In Obras psicolgicas
completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. VII, pp. 119-229). Rio
de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1905c). Os chistes e sua relao com o inconsciente. In Obras psicolgicas
completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. VIII). Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
_______ (1900). A interpretao dos sonhos (Parte I). In Obras psicolgicas completas
de Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. IV). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1896). A etiologia da histeria. In Obras psicolgicas completas de Sigmund
Freud: Edio standard brasileira (Vol. III, pp. 187-215). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1895[1950]). Projeto para uma psicologia cientfica. In Obras psicolgicas
completas de Sigmund Freud: Edio standard brasileira (Vol. I, pp. 333-454). Rio de
Janeiro: Imago, 1996.
_______ (1893). Estudos sobre a histeria. In Obras psicolgicas completas de Sigmund
Freud: Edio standard brasileira (Vol. II). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Garcia-Roza, L. A. (2001). Palavra e verdade: na filosofia antiga e na psicanlise. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar.
Gil, A. C. (s.d.). Como classificar as pesquisas?. Recuperado em 09 de fevereiro, 2009,
de: www.professordilson.pro.br/omono/Classifica%C3%A7%C3%A3o_de_Pesquisas.
doc.
Gomes, R. R. e Fernandes, A. H. (2002). A feminilidade e o inconsciente. Pulsional
Revista de Psicanlise, 15(159)10.
Grant, W. H. (2002). Consideraes sobre a homossexualidade feminina. Psych, 6(9).
Recuperado em 03 de abril, 2010, de: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/307/30700911.pdf.
__________ (1998). A mascarada e a feminilidade. Psicologia USP, 9(2). Recuperado em 10
de
julho,
2009,
de:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010365641998000200010&script=sci_arttext.
Kehl, M. R. (2008). Deslocamentos do feminino. Rio de Janeiro: Imago.
10
No foi possvel indicar as pginas, pois se utilizou documento do tipo eletrnico.
106
Lacan, J. (1979). Joyce, o sintoma. In Outros escritos (pp. 560-566). Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2003.
________ (1977-1978). O seminrio, livro 25: o momento de concluir. Edio eletrnica
(em espanhol).
________ (1974-1975). O seminrio, livro 22: RSI. Edio eletrnica (em espanhol).
________ (1974). Televiso. In Outros escritos (pp. 508-543). Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2003.
________ (1972-1973). O seminrio, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1985.
________ (1972). O aturdito. In Outros escritos (pp. 448-497). Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2003.
________ (1970). Radiofonia. In Outros escritos (pp. 400-447). Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2003.
________ (1969-1970). O seminrio, livro 17: o avesso da psicanlise. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1992.
________ (1969). Nota sobre a criana. In Outros escritos (pp. 369-370). Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2003.
________ (1966). A cincia e a verdade. In Escritos (pp. 855-892). Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1998.
________ (1965-1966). O seminrio, livro 13: o objeto da psicanlise. Edio eletrnica
(em espanhol).
_______ (1964). O seminrio, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanlise.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
________ (1962-1963). O seminrio, livro 10: a angstia. Edio eletrnica (em
espanhol).
________ (1960-1961). O seminrio, livro 8: A transferncia. Edio eletrnica (em
espanhol).
107
Lacan, J. (1960a). Diretrizes para um congresso sobre a sexualidade feminina. In
Escritos (pp. 734-745). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
________ (1960b). Subverso do sujeito e dialtica do desejo no inconsciente freudiano.
In Escritos (pp. 275-311). So Paulo: Perspectiva, 1996.
________ (1958a). A significao do falo. In Escritos (pp. 692-703). Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1998.
_________ (1958b). A direo do tratamento e os princpios de seu poder. In Escritos
(pp. 591-652). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
________ (1957-1958a). O seminrio, livro 5: As formaes do inconsciente. Edio
eletrnica (em espanhol).
________ (1957-1958b). De uma questo preliminar a todo tratamento possvel da
psicose. In Escritos (pp. 537-590). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
________ (1956-1957). O seminrio, livro 4: A relao de objeto. Edio eletrnica (em
espanhol).
________ (1953-1954). O seminrio, livro 1: os escritos tcnicos de Freud. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
Lamy, M. I. M. (1995). Questes sobre o complexo de dipo na menina. In Centro de
Estudo e Pesquisa em Psicanlise com Crianas CEPACC (1995). Fort-da, 3 (pp.
23-31). Rio de Janeiro: RevinteR.
Marcos, C. (2007). Figuras da maternidade em Clarice Lispector ou a maternidade para alm
do falo. gora: Estudos em Teoria Psicanaltica, 10(1). Recuperado em 10 de julho, 2009,
de: http://www.scielo.br/pdf/agora/v10n1/a02v10n1.pdf.
Michels, A. (2001). Histeria e feminilidade. gora: Estudos em Teoria Psicanaltica, 4(1).
Recuperado em 10 de julho, 2009, de: http://www.scielo.br/pdf/agora/v4n1/v4n1a03.pdf.
Miller, J.-A. (1998, abril). A criana entre a mulher e a me. Opo lacaniana: Revista
brasileira internacional de psicanlise, 21, 07-12.
Montezuma, M. (2001). A clnica na sade mental. In Quinet, A. (Org.). Psicanlise e
psiquiatria: controvrsias e convergncias (pp. 133-142). Rio de Janeiro: Rios
Ambiciosos.
108
Nogueira, L. C. (2004). A pesquisa em psicanlise. Psicologia USP 15(1-2). Recuperado
em 10 de agosto, 2008, de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S0103-65642004000100013.
Patrasso, R., Grant, W. H. (2007). O feminino, a literatura e a sexuao. Psicologia
Clnica,
19(2).
Recuperado
em
10
de
julho,
2009,
de:
http://www.scielo.br/pdf/pc/v19n2/a10v19n2.pdf.
Pollo, V. (2003). Mulheres histricas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria.
Prates, A. L. (2001). Feminilidade e experincia psicanaltica. So Paulo: Hacker
Editores: FAPESP.
Quinet, A. (2007). A cincia psiquitrica nos discursos da contemporaneidade.
Recuperado em 11 de abril, 2010, de: lacanian.memory.online.fr.
_________ (2000). As 4+1 condies da anlise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Resoluo n. 196. (1996, 10 de outubro). Aprova diretrizes e normas regulamentadoras
de pesquisas envolvendo seres humanos. Braslia, DF: Ministrio da Sade.
Rivire, J. (2005). A feminilidade como mscara (Carvalho, A. C. e Carvalho, E., Trad.).
Psych, 9(16), 13-24. (Trabalho original publicado em 1929).
Rosa, M. (2001). A filiao e seus impasses: a adoo. Curinga: Escola Brasileira de
Psicanlise MG, 15/16, 84-91.
Roudinesco, E. e Plon, M. (1998). Dicionrio de psicanlise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Sauret, M.-J. (2003). A pesquisa clnica em psicanlise. Psicologia USP, 14(3), 89-104.
__________ (1997). O infantil & a estrutura. So Paulo: Escola Brasileira de Psicanlise,
1998.
Silva, R. M. da, & Arajo, M. A. L. (2007). Promoo da sade no contexto
interdisciplinar. Revista Brasileira de Promoo da Sade, 20(3), 141-2.
Soler, C. (2005). O que Lacan dizia das mulheres. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
109
_______ (1998). Psicanlise e civilizao. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria.
_______ (1995). Variveis do fim da anlise. Campinas, SP: Papirus.
_______ (1991). Artigos clnicos. Salvador: Fator.
Souza, A. (2003). Os discursos na psicanlise. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.
Teixeira, M. do R. [2009?a]. Corpo de homem / Corpo de mulher: Os corpos e a diferena
sexual. Recuperado em 25 de junho, 2009, da Editora galma:
http://www.agalma.com.br/ agalma/ver_artigos.asp?ID=15.
________________ [2009?b]. A inveno da mulher. Recuperado em 30 de abril, 2009,
do Blog da Mente e Crebro: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/
a_invencao_da_mulher_ imprimir.html.
________________ (2007). A feminilidade nas dimenses real, simblica e imaginria. In
Associao Psicanaltica de Curitiba (2007). Em Revi$ta, 14 (pp. 75-86). Curitiba:
APC.
________________ (1991). A feminilidade na psicanlise e outros ensaios. Salvador:
galma.
XIII Plenria do Conselho Federal de Psicologia (2005). Cdigo de tica profissional do
psiclogo. Braslia, DF.
Zalcberg, M. (2003). A relao me e filha. Rio de Janeiro: Elsevier.
Você também pode gostar
- O Ciclo da Violência: Psicanálise, Repetição e Políticas PúblicasNo EverandO Ciclo da Violência: Psicanálise, Repetição e Políticas PúblicasAinda não há avaliações
- Calligaris - PerversãoDocumento73 páginasCalligaris - PerversãoFlavio Guilhon100% (3)
- Metanoia PDFDocumento176 páginasMetanoia PDFMaurício Rigoni BaldimAinda não há avaliações
- Iaconelli Do PDFDocumento130 páginasIaconelli Do PDFCaio ReisAinda não há avaliações
- Freud e o casamento: O sexual no trabalho de cuidadoNo EverandFreud e o casamento: O sexual no trabalho de cuidadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Ato e FemininoDocumento218 páginasAto e FemininoAllana Dias100% (1)
- Capacidade de Estar So TeseDocumento172 páginasCapacidade de Estar So TeseBárbara CristinaAinda não há avaliações
- A Psicanálise e o Cuidado de Si - DissertaçãoDocumento166 páginasA Psicanálise e o Cuidado de Si - DissertaçãoleonardorrreisAinda não há avaliações
- A Estimulação Precoce Na Clínica PsicanalíticaDocumento30 páginasA Estimulação Precoce Na Clínica PsicanalíticaPatrícia PatyAinda não há avaliações
- Teste Dos Contos de Fadas: Estudos de Evidência de ValidadeDocumento121 páginasTeste Dos Contos de Fadas: Estudos de Evidência de ValidadeJoana MadureiraAinda não há avaliações
- A Vergonha em Psicanálise Da Falha Narcisica A Transparencia Do EuDocumento114 páginasA Vergonha em Psicanálise Da Falha Narcisica A Transparencia Do EuYan Lázaro SantosAinda não há avaliações
- O Corpo Nas Neuroses PDFDocumento202 páginasO Corpo Nas Neuroses PDFRacheçAinda não há avaliações
- Psicossomática Junguiana e Os SonhosDocumento58 páginasPsicossomática Junguiana e Os SonhosMaximiliano Z. Silva100% (3)
- Autism According To Frances TustinDocumento20 páginasAutism According To Frances TustinBessy SpAinda não há avaliações
- A Terceira Opção Lacaniana - 62 - Dez 2011Documento260 páginasA Terceira Opção Lacaniana - 62 - Dez 2011lila.santiago1354Ainda não há avaliações
- Caso Primeau - Apresentação de Paciente de Lacan0001Documento13 páginasCaso Primeau - Apresentação de Paciente de Lacan0001Luis Achilles Furtado100% (1)
- Notas Sobre o Diagnóstico Diferencial Da Psicose e Do Autismo Na InfânciaDocumento24 páginasNotas Sobre o Diagnóstico Diferencial Da Psicose e Do Autismo Na InfânciaRosângela OliveiraAinda não há avaliações
- Rêverie hostil, premonições na experiência analítica e textos selecionadosNo EverandRêverie hostil, premonições na experiência analítica e textos selecionadosAinda não há avaliações
- A IDENTIFICAÇÃO NA MELANCOLIA DO OBJETO PERDIDO AO OBJETO ADocumento110 páginasA IDENTIFICAÇÃO NA MELANCOLIA DO OBJETO PERDIDO AO OBJETO AJulia Veiga100% (1)
- TCC Maura JeaneDocumento95 páginasTCC Maura JeaneLucio FlavioAinda não há avaliações
- 2020 HelenaBarbosadeCarvalhoDocumento131 páginas2020 HelenaBarbosadeCarvalhopedro henriqueAinda não há avaliações
- Dissertacao de Mestrado - Sandra Mosello - DepositoDocumento58 páginasDissertacao de Mestrado - Sandra Mosello - DepositoSandra Cristine Machado Mosello100% (2)
- CORPO FEMININO E A SUBJETIVACAO - Referencia Neurose de Orgao Sandor FerencziDocumento118 páginasCORPO FEMININO E A SUBJETIVACAO - Referencia Neurose de Orgao Sandor FerenczixandydfAinda não há avaliações
- Relacionamento Amoroso: Sofrimento Feminino Na Contemporaneidade Rosangela Maria RibeiroDocumento88 páginasRelacionamento Amoroso: Sofrimento Feminino Na Contemporaneidade Rosangela Maria RibeiroHamid HajaouiAinda não há avaliações
- Disserta o Luciano Pacheco de Lacerda Biblioteca Digital PDF ADocumento122 páginasDisserta o Luciano Pacheco de Lacerda Biblioteca Digital PDF ARaphael LaceerdaAinda não há avaliações
- Do Transexualismo À Transexualidade PDFDocumento143 páginasDo Transexualismo À Transexualidade PDFAyrk ZamiskeAinda não há avaliações
- Depressão Pos PartoDocumento178 páginasDepressão Pos PartoEQUIPE MULTIDISCIPLINARAinda não há avaliações
- Priscilla Henrique Dissertao - Com Ficha Catalogrfica 1Documento84 páginasPriscilla Henrique Dissertao - Com Ficha Catalogrfica 1Rodrigo da SilvaAinda não há avaliações
- A(s) Clínica(s) Psicológica(s) e A Diversidade Sexual Percorrendo Trajetórias de VidaDocumento94 páginasA(s) Clínica(s) Psicológica(s) e A Diversidade Sexual Percorrendo Trajetórias de VidaAna CarneiroAinda não há avaliações
- TCC - Laura Tranjan - Laura Victal TranjanDocumento35 páginasTCC - Laura Tranjan - Laura Victal TranjanPaula FurlanAinda não há avaliações
- TraumaDocumento110 páginasTraumaRomunike OliveiraAinda não há avaliações
- Maternagem e suas vicissitudes: uma contribuição para a Saúde PúblicaNo EverandMaternagem e suas vicissitudes: uma contribuição para a Saúde PúblicaAinda não há avaliações
- Fossilização Deficiencia GeneralizaçãoDocumento151 páginasFossilização Deficiencia GeneralizaçãoEmanuelle AlmeidaAinda não há avaliações
- Macumba Coisas ImportantesDocumento47 páginasMacumba Coisas Importantesketlinc.traldiAinda não há avaliações
- Satisfação e Insatisfação No Casamento - Os Dois Lados de Uma Mesma MoedaDocumento172 páginasSatisfação e Insatisfação No Casamento - Os Dois Lados de Uma Mesma MoedaLidiane AraújoAinda não há avaliações
- Martino - ARTIGO USP ESTUPRODocumento273 páginasMartino - ARTIGO USP ESTUPROCristiane RosaAinda não há avaliações
- Carlos Augusto Teixeira TemperiniDocumento344 páginasCarlos Augusto Teixeira TemperinifranciscoAinda não há avaliações
- De Um Manejo Possível Da Transferência Na PsicoseDocumento29 páginasDe Um Manejo Possível Da Transferência Na PsicoseLetícia NogueiraAinda não há avaliações
- O LUTO NA PERDA GESTACIONAL: UM OLHAR FENOMENOLÓGICoDocumento215 páginasO LUTO NA PERDA GESTACIONAL: UM OLHAR FENOMENOLÓGICoLeonan PalmaAinda não há avaliações
- As cirurgias estéticas na sociedade de consumo: análise psicossocial das metamorfoses do corpoNo EverandAs cirurgias estéticas na sociedade de consumo: análise psicossocial das metamorfoses do corpoAinda não há avaliações
- TESE - Psicanálise - Elisabeth Da Rocha MirandaDocumento358 páginasTESE - Psicanálise - Elisabeth Da Rocha MirandaFelipePessoa100% (1)
- Rinalda de Oliveira Duarte HISTERIADocumento120 páginasRinalda de Oliveira Duarte HISTERIApsicfernandobassoAinda não há avaliações
- Psicodélicos 4Documento80 páginasPsicodélicos 4Douglas TrindadeAinda não há avaliações
- Lopes, Mariana Dal CastelDocumento131 páginasLopes, Mariana Dal CastelLuciane AntunesAinda não há avaliações
- Suicidio em LiteraturaDocumento113 páginasSuicidio em LiteraturaRicardo Filipe Afonso MangeronaAinda não há avaliações
- Psicanálise, Feminismo e Os Caminhos para A Maternidade - Diálogos PossíveisDocumento21 páginasPsicanálise, Feminismo e Os Caminhos para A Maternidade - Diálogos PossíveisMaria Julia NicolauAinda não há avaliações
- Mediunidade Na Terceira IdadeDocumento5 páginasMediunidade Na Terceira IdadeCultura de Paz, Saúde Integral e (Re)envolvimento Humano100% (1)
- Sofrimento Psiquico e SuicidioDocumento167 páginasSofrimento Psiquico e SuicidioMarcela KatherineAinda não há avaliações
- Dissertação - Angélica Glória Mendonça Da Silva - 2021 - CompletaDocumento98 páginasDissertação - Angélica Glória Mendonça Da Silva - 2021 - CompletawdeanyfAinda não há avaliações
- Mariana Pombo Funcao PaternaDocumento212 páginasMariana Pombo Funcao PaternaFernandoAinda não há avaliações
- Dissertação - Ivy França Carvalho - 2019 - CompletaDocumento83 páginasDissertação - Ivy França Carvalho - 2019 - CompletabeatriceAinda não há avaliações
- Kelvin+Alisson+Rodrigues+Catalano - Perversão e CulpaDocumento45 páginasKelvin+Alisson+Rodrigues+Catalano - Perversão e Culpaleonardo.toshimitsuAinda não há avaliações
- O Homem, Uma Mulher Um Estudo Psicanalítico Sobre As Fórmulas Da SexuaçãoDocumento114 páginasO Homem, Uma Mulher Um Estudo Psicanalítico Sobre As Fórmulas Da SexuaçãoanaxlellesAinda não há avaliações
- A Dependência Química em Mulheres. Figurações de Um Sintoma Partilhado PDFDocumento226 páginasA Dependência Química em Mulheres. Figurações de Um Sintoma Partilhado PDFEmildson Cavalcanti JuniorAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre A Preguiça - CabralDocumento233 páginasEnsaio Sobre A Preguiça - CabralqueilianeslcAinda não há avaliações
- Unileão Centro Universitário Doutor Leão Sampaio Curso de Graduação em PsicologiaDocumento28 páginasUnileão Centro Universitário Doutor Leão Sampaio Curso de Graduação em PsicologiaiinfinitoconhecimentoAinda não há avaliações
- Maria Luiza SarnoDocumento103 páginasMaria Luiza SarnoMariana Pitta LimaAinda não há avaliações
- TCC MarianaDocumento54 páginasTCC MarianaFabio ColtroAinda não há avaliações
- Dissertação Maristela Duarte - Colonia de BarbacenaDocumento273 páginasDissertação Maristela Duarte - Colonia de BarbacenaJulia KumperaAinda não há avaliações
- Maria Am Lia TostesDocumento129 páginasMaria Am Lia TostesMarcus ViniciusAinda não há avaliações
- A Experiência Vivida Por Pessoas Diagnosticadas Como Autistas, A Partir de Encontros DialógicosDocumento202 páginasA Experiência Vivida Por Pessoas Diagnosticadas Como Autistas, A Partir de Encontros DialógicosTiago BastosAinda não há avaliações
- Liberdade, Um Problema Do Nosso Tempo - Os Sentidos Da Liberdade para Os Jovens No ContemporâneoDocumento190 páginasLiberdade, Um Problema Do Nosso Tempo - Os Sentidos Da Liberdade para Os Jovens No ContemporâneoRégis Eduardo0% (1)
- Lisette Weissmann - Famílias MonoparentaisDocumento157 páginasLisette Weissmann - Famílias MonoparentaisMarcelo Massao KiyukawaAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre Aspectos Psicológicos em Doenças CutâneasDocumento181 páginasUm Estudo Sobre Aspectos Psicológicos em Doenças CutâneasAdrianoFernandesAinda não há avaliações
- Feminilidade Das Origens Um Estudo Sobre As Raízes Primitivas Da Recusa À FeminilidadeDocumento130 páginasFeminilidade Das Origens Um Estudo Sobre As Raízes Primitivas Da Recusa À FeminilidadeTarcila de Castro - SushmaAinda não há avaliações
- O Espetaculo Como Meio de Subjetivação - Kehl - ResenhaDocumento6 páginasO Espetaculo Como Meio de Subjetivação - Kehl - ResenhaGerusadcAinda não há avaliações
- Palavra, Violência, Segregação Roberto Harari PDFDocumento36 páginasPalavra, Violência, Segregação Roberto Harari PDFMari MoreiraAinda não há avaliações
- Jacques Lacan - Pequeno Discurso Aos Psiquiatras (10.11.1967) - Traduzido Do FrancêsDocumento17 páginasJacques Lacan - Pequeno Discurso Aos Psiquiatras (10.11.1967) - Traduzido Do FrancêsN NJAinda não há avaliações
- Oficios ImpossíveisDocumento10 páginasOficios ImpossíveisPedro Grisi Galvão BarbanAinda não há avaliações
- 2 - (SAFATLE) Por Uma Crítica Da Economia Libidinal PDFDocumento11 páginas2 - (SAFATLE) Por Uma Crítica Da Economia Libidinal PDFPoly95Ainda não há avaliações
- LacanDocumento4 páginasLacanThiago TimAinda não há avaliações
- Marie Claude Thomas - Introdução para Uma Genealogia Do AutismoDocumento28 páginasMarie Claude Thomas - Introdução para Uma Genealogia Do AutismoiarabcamposAinda não há avaliações
- Teoria Queer Entre A Pós-Modernidade e o Presentismo: Um Caminho Crítico Possível?Documento29 páginasTeoria Queer Entre A Pós-Modernidade e o Presentismo: Um Caminho Crítico Possível?Cássio BrunoAinda não há avaliações
- A Demanda Da FelicidadeDocumento5 páginasA Demanda Da FelicidadeValdeciOliveiraAinda não há avaliações
- Aula - O CONCEITO DE SEXUALIDADE EM FREUD NovaDocumento59 páginasAula - O CONCEITO DE SEXUALIDADE EM FREUD NovaKarina GuimarãesAinda não há avaliações
- 7290 35932 1 SMDocumento322 páginas7290 35932 1 SMNathalia UlianaAinda não há avaliações
- Tradução Entrevista Lacan - Ultimarevisao9out20Documento14 páginasTradução Entrevista Lacan - Ultimarevisao9out20Ruben100% (1)
- Infoslof5 Novembro20Documento9 páginasInfoslof5 Novembro20Ricardo RezendeAinda não há avaliações
- Marcio MariguelaDocumento185 páginasMarcio MariguelaTarcisio GreggioAinda não há avaliações
- Clínica Do EsquecimentoDocumento100 páginasClínica Do EsquecimentoJuliane Garcia de AlencarAinda não há avaliações
- 10 Fábio Luís Rodrigues Figueredo Hegel e o Momento Dialético Da Denegação Aufhebung Revelado No Escrito de Freud "A Negação" 1925Documento10 páginas10 Fábio Luís Rodrigues Figueredo Hegel e o Momento Dialético Da Denegação Aufhebung Revelado No Escrito de Freud "A Negação" 1925Wal DirAinda não há avaliações
- BIRMAN, J. Criatividade e Sublimação em PsicanáliseDocumento2 páginasBIRMAN, J. Criatividade e Sublimação em PsicanáliseMarcus SantosAinda não há avaliações
- O RisoDocumento8 páginasO RisoLeidy AnyAinda não há avaliações
- Bernard Chervet - Apres CoupDocumento20 páginasBernard Chervet - Apres CoupLann CastroAinda não há avaliações
- AEspiritualidadeeosProcessosInconscientes LivroDocumento129 páginasAEspiritualidadeeosProcessosInconscientes LivroDenise AssisAinda não há avaliações
- Genero - Joan ScottDocumento9 páginasGenero - Joan ScottEliana CaladoAinda não há avaliações
- Sintese - O Manual Da Psicologia Hospitalar - O MAPA DA DOENÇA - Pag 115 Á 129 (GRUPO 02)Documento10 páginasSintese - O Manual Da Psicologia Hospitalar - O MAPA DA DOENÇA - Pag 115 Á 129 (GRUPO 02)Glad WorksAinda não há avaliações
- MURAD, Maria Fernanda Guita. O Poder em Foucault Crítica À Psicanálise Como Dispositivo de Poder.Documento8 páginasMURAD, Maria Fernanda Guita. O Poder em Foucault Crítica À Psicanálise Como Dispositivo de Poder.Felipe FernandesAinda não há avaliações