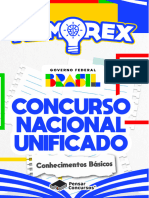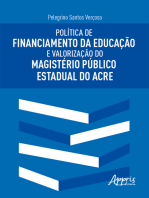Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Do Crescimento Forçado À Crise Da Dívida Externa
Enviado por
LindOn GoisDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Do Crescimento Forçado À Crise Da Dívida Externa
Enviado por
LindOn GoisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Do Crescimento Forado Crise da Dvida Externa
Do Milagre ao II PND
Introduo
No incio dos anos 70 ocorreram mudanas no mbito internacional que afetaram de
forma grave a economia brasileira. O acordo de estabilizao da taxa de cmbio
internacional foi rompido e o petrleo, que na poca era a principal fonte de energia
mundial, teve seu preo quadruplicado em 1973 pelos pases membros da OPEP.
O Brasil, assim como a maior parte do mundo, reagiu de forma recessiva diante
dessas mudanas.
A partir de 1974, o Brasil implementou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II
PND) que na poca era uma obrigao constitucional que todo governo lanasse um
PND. A partir desse perodo deu-se incio ao perodo de recesso chamado Crise
da Dvida Externa.
II Plano de Desenvolvimento Nacional (PND)
O rpido crescimento provocado pelo Milagre Econmico causou alguns
desequilbrios que viriam a gerar problemas inflacionrios e na balana comercial.
Ernesto Geisel havia assumido a presidncia e necessitava de uma maior taxa de
investimento do que o governo anterior para manter as taxas de crescimento. Nesse
contexto as opes de crescimento eram: AJUSTAMENTO e FINANCIAMENTO.
O Ajustamento buscava frear a demanda interna e evitar que o choque externo se
transformasse em inflao.
O Investimento matinha o crescimento elevado enquanto houvesse financiamento
externo.
Em 1974 o ministro Mario Henrique Simonsen optou pela opo de ajustamento, que
no pode ser levada adiante por conta da quebra do banco Halles. Ento, no fim de
1974, o II PND traou uma estratgia de financiamento, porm, promovendo um
ajuste na estrutura de oferta de longo prazo, mantendo assim a economia
funcionando em ritmo de marcha forada.
Deste modo, buscou-se alterar a estrutura produtiva brasileira, na tentativa de, ao
longo prazo, diminuir as importaes e aumentar as exportaes. Para isso, era
necessrio financiamento por meio de emprstimos externos.
O II PND tinha como meta aumentar o PIB em 10% a.a. e a indstria em 12% a.a. A
meta no foi alcanada, porm, manteve-se o crescimento em um nvel mais baixo.
Apesar das taxas de crescimento terem sido menores, ocorreram mudanas
estruturais na economia como, por exemplo, o crescimento significativo dos setores
industrial (35%), metalrgico (45%), de material eltrico (49%), de papel e papelo
(50%) e qumico (48%), alm do setor txtil (26%), de alimentos (18%) e de material
de transportes (28%).
No perodo do Milagre Econmico visava-se um crescimento do setor de bens e
consumo. O Plano mudou as prioridades direcionando o crescimento para o setor
produtor de meios de produo, tendo como objetivo gerar demanda e assim
estimular o setor privado a investir no setor de bens de capital. Alm de garantir a
demanda, foram dados incentivos fiscais ao setor privado.
Havia dois problemas centrais na execuo do Plano: o apoio poltico e os
financiamentos. Em relao a questo do apoio poltico foi trabalhada a
descentralizao espacial dos projetos de investimentos, onde o governo
passou a investir nos estados menores, principalmente no Nordeste, criando
grandes indstrias, metalrgicas e petroqumicas.
Quanto ao problema de financiamentos, as empresas estatais foram financiadas
com recursos externos, criando assim o processo de estatizao da dvida
externa. J as empresas privadas foram financiadas por agncias oficiais como o
BNDES.
A HETERODOXIA DELFINIANA
O final da dcada de 70 foi um perodo de muitas transformaes no mbito
econmico. Geisel saia da presidncia para a entrada de Figueiredo; em 1979
ocorreu o segundo choque do petrleo e a elevao das taxas de juros
internacionais, o que causou naquele ano um aumento na inflao, subindo para
77% a.a. com tendncias aceleracionistas. Esses acontecimentos e a ameaa de
uma profunda queda econmica resultaram na substituio do ministro do
planejamento. Saia Simonsen e entrava Delfim Netto.
Delfim Netto adotou como primeiras medidas:
- Controle sobre as taxas de juros
- Expanso dos crditos para agricultura
- Criao da Secretaria Especial das Empresas Estatais
- Maxidesvalorizao do cruzeiro em 30%
- Correo monetria e cambial em 50% e 45%
Essas medidas resultaram numa acelerao inflacionria para 100% a.a., na
ampliao da dvida externa e na retrao do sistema financeiro.
A CRISE DA DVIDA EXTERNA
Em 1980, devido maxidesvalorizao cambial, o governo adotou uma poltica
ortodoxa de ajustamento voluntrio. O resultado permaneceu sendo o excesso de
demanda interna.
O Brasil passou a implementar o processo de ajustamento externo, atravs da busca
de supervits, processo que se aprofundou em 1982 sob tutela do FMI. Tal poltica
tinha como objetivos:
- Conter a demanda excessiva da reduo do dficit pblico, dos gastos e dos
investimentos, o aumento da taxa de juros interna e a reduo do salrio real.
- Tornar a estrutura de preos favorveis ao setor externo, incentivando
exportao e a competitividade da indstria brasileira.
Os resultados da poltica foi uma profunda recesso em 81, 82 e 83. Porm no final
de 1983, observou-se uma reverso no saldo da balana comercial, devido em parte
a esta recesso que causou grande queda nas importaes. Em 1984, manteve-se
novamente o supervit, mesmo com a recuperao do produto, o que mostra o
sucesso do II PND que ocasionou mudanas estruturais na economia.
O ajustamento da balana comercial trouxe consigo um problema. As obrigaes da
dvida externa no eram direcionadas igualmente entre os setores. Sendo assim,
80% da dvida eram do setor pblico por conta do processo de estatizao da dvida
externa. Esse o problema interno do ajuste externo.
Para adquirir divisas, o governo comeou um processo de transformao da dvida
externa em dvida interna. Esse processo causou a queda do partido e impulsionou
o movimento das Diretas J. Foi nesse clima que terminou o Regime Militar e se
iniciou a Nova Repblica, com a esperana de fazer os ajustamentos, sem impor
sacrifcios populao.
Você também pode gostar
- UNIP - Estudos Disciplinares V - Avaliação IDocumento4 páginasUNIP - Estudos Disciplinares V - Avaliação Ioruam nonne88% (8)
- Trabalho infantil masculino na agriculturaDocumento3 páginasTrabalho infantil masculino na agriculturaAndréaCassionatoAinda não há avaliações
- Políticas Públicas e Enfrentamento Das Desigualdades: 2 Série Aula 7 - 3º BimestreDocumento23 páginasPolíticas Públicas e Enfrentamento Das Desigualdades: 2 Série Aula 7 - 3º BimestreCíntia BorgesAinda não há avaliações
- Prova RubensDocumento52 páginasProva RubensElivan Silva DiasAinda não há avaliações
- Revolução Industrial e Sistema de Fábrica Na EuropaDocumento186 páginasRevolução Industrial e Sistema de Fábrica Na EuropaMarcosAinda não há avaliações
- Finanças Públicas CNUDocumento2 páginasFinanças Públicas CNUjoslaineredivo100% (1)
- Mapa Mental Contabilidade PublicaDocumento1 páginaMapa Mental Contabilidade PublicaTITA783100% (1)
- Gestão de riscos corporativosDocumento69 páginasGestão de riscos corporativosTatiana Frade MacielAinda não há avaliações
- A04 - Economia BrasileiraDocumento91 páginasA04 - Economia BrasileiraGéssica Nogueira Taleires100% (1)
- LRF EsquematizadaDocumento9 páginasLRF EsquematizadaAllen Arimoto100% (1)
- Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas para gestão fiscal responsávelDocumento94 páginasLei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas para gestão fiscal responsávelFrancisco Helder Alves Praxedes Júnior100% (1)
- Primeira RepúblicaDocumento5 páginasPrimeira RepúblicaBruna Alves Santos100% (1)
- Trabalho Desenvolvimento IIDocumento9 páginasTrabalho Desenvolvimento IIBeatriz VaroloAinda não há avaliações
- Aula 03. Princípios Orçamentários.Documento38 páginasAula 03. Princípios Orçamentários.Paula SilvaAinda não há avaliações
- Avaliação de políticas públicasDocumento19 páginasAvaliação de políticas públicasTalita AraujoAinda não há avaliações
- Dje 2524 Ii 13062018Documento703 páginasDje 2524 Ii 13062018Naigel DiasAinda não há avaliações
- Entendendo A Lei de Responsabilidade FiscalDocumento5 páginasEntendendo A Lei de Responsabilidade FiscalAnderson SouzaAinda não há avaliações
- A1 - Diversidade e Inclusão Na SociedadeDocumento66 páginasA1 - Diversidade e Inclusão Na SociedadeRafaela da Siva LimaAinda não há avaliações
- Op 122jn 24 Cnu Bloco 6 Material DigitalDocumento184 páginasOp 122jn 24 Cnu Bloco 6 Material DigitalMatheus Xavier100% (1)
- Lazer Na Terceira Idade Traz Benefícios para Os Idosos e Aumento Da Qualidade de VidaDocumento1 páginaLazer Na Terceira Idade Traz Benefícios para Os Idosos e Aumento Da Qualidade de VidaGiselly Martins da SilvaAinda não há avaliações
- A revolução capitalista brasileira e os três grandes ciclos de desenvolvimentoDocumento9 páginasA revolução capitalista brasileira e os três grandes ciclos de desenvolvimentoalexandre mossAinda não há avaliações
- Regime Militar no Brasil (1964-85Documento13 páginasRegime Militar no Brasil (1964-85Priscila MatozoAinda não há avaliações
- Clique Aqui para Garantir o Material CompletoDocumento48 páginasClique Aqui para Garantir o Material CompletoVinicius Bortoletto100% (1)
- Lei de Responsabilidade Fiscal: limites e sançõesDocumento13 páginasLei de Responsabilidade Fiscal: limites e sançõesLidianeAinda não há avaliações
- Despesa Publica Parte iDocumento122 páginasDespesa Publica Parte ileandro79rjAinda não há avaliações
- Revisão Por QuestõesDocumento129 páginasRevisão Por QuestõesPEDRO AGUILARAinda não há avaliações
- Bizu do Ponto - AFO para Auditor do TCUDocumento11 páginasBizu do Ponto - AFO para Auditor do TCUCat LimaAinda não há avaliações
- Eixo 1 - Direitos Sociais 2 FolhasDocumento9 páginasEixo 1 - Direitos Sociais 2 FolhasWillian Pimenta da SilvaAinda não há avaliações
- Finanças Públicas: Funções do Governo e Falhas de MercadoDocumento58 páginasFinanças Públicas: Funções do Governo e Falhas de MercadoAlexandre Couto CardosoAinda não há avaliações
- Curso Economia Brasileira - 1Documento230 páginasCurso Economia Brasileira - 1Juan Guimarães100% (1)
- Estatística Descritiva FundamentosDocumento23 páginasEstatística Descritiva Fundamentostrying to draw things100% (1)
- Howard Marks - Mastering Market Cycle (210-238) .En - PTDocumento29 páginasHoward Marks - Mastering Market Cycle (210-238) .En - PTdiego lopesAinda não há avaliações
- Memorex CNU (Conhecimentos Básicos) - Rodada 03Documento24 páginasMemorex CNU (Conhecimentos Básicos) - Rodada 03daialemAinda não há avaliações
- Memorex - CNU - (Conhecimentos+Básicos) - Rodada+06 - Pós EditalDocumento22 páginasMemorex - CNU - (Conhecimentos+Básicos) - Rodada+06 - Pós EditalgabriellaafreitAinda não há avaliações
- Sociedade colonial brasileira e economia açucareiraDocumento7 páginasSociedade colonial brasileira e economia açucareiraCarlson CruzAinda não há avaliações
- Simulado Processo AdministrativoDocumento42 páginasSimulado Processo AdministrativoRay GobbiAinda não há avaliações
- Resenha Crítica e Resumo Do Segundo Tratado Sobre o Governo Civil de John LockeDocumento19 páginasResenha Crítica e Resumo Do Segundo Tratado Sobre o Governo Civil de John LockeTatiane MendesAinda não há avaliações
- Elaboração e Implementação em Políticas Públicas - Ebook PDFDocumento107 páginasElaboração e Implementação em Políticas Públicas - Ebook PDFRuan LucasAinda não há avaliações
- Organizacao Politico Administrativa Do Estado E1680279399Documento128 páginasOrganizacao Politico Administrativa Do Estado E1680279399YANA100% (1)
- Economia: fundamentos e conceitos essenciaisDocumento136 páginasEconomia: fundamentos e conceitos essenciaisMarcia BiccaAinda não há avaliações
- O Brasil Pós COVID-19Documento96 páginasO Brasil Pós COVID-19Ingrid Dupont100% (2)
- SIMULADO+1+-+CNU+(BLOCO+2)Documento28 páginasSIMULADO+1+-+CNU+(BLOCO+2)eduardo mendesAinda não há avaliações
- UND IV de ADM I - Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional.Documento6 páginasUND IV de ADM I - Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional.BENEDITO AMORIMAinda não há avaliações
- 1489848922estado Bem Estar X Estado LiberalDocumento1 página1489848922estado Bem Estar X Estado LiberalTunisia Luanna SousaAinda não há avaliações
- 10 Temas de Redação Essenciais para o CNUDocumento19 páginas10 Temas de Redação Essenciais para o CNUdione.exatasAinda não há avaliações
- Burocracia e Ocupação No Setor Público Brasileiro - Livro - Ipea - Dialogosdesenvol05Documento448 páginasBurocracia e Ocupação No Setor Público Brasileiro - Livro - Ipea - Dialogosdesenvol05Paulo Guerra100% (1)
- Temas de redação sobre família, religião, educação e mobilidadeDocumento4 páginasTemas de redação sobre família, religião, educação e mobilidadeJosé Filho PinheiroAinda não há avaliações
- MOORE, Mark Harrison. Criando Valor Público Por Meio de Parcerias Público-PrivadasDocumento31 páginasMOORE, Mark Harrison. Criando Valor Público Por Meio de Parcerias Público-PrivadasTemístocles Murilo Oliveira JúniorAinda não há avaliações
- A Economia Brasileira A Partir de 1985Documento8 páginasA Economia Brasileira A Partir de 1985evandro12ful1Ainda não há avaliações
- Curso 58804 Aula 00 v1Documento69 páginasCurso 58804 Aula 00 v1hlcarvalhoAinda não há avaliações
- Ricardo Antunes Industrias 4 0 Levarao A Escravidao DigitalDocumento3 páginasRicardo Antunes Industrias 4 0 Levarao A Escravidao DigitalRicardo SouzaAinda não há avaliações
- B07 R06 - Memorex CNUDocumento36 páginasB07 R06 - Memorex CNUjuliaromer12Ainda não há avaliações
- Parecer LOA 2021Documento11 páginasParecer LOA 2021João Pedro Toledo100% (1)
- O Papel Do Governo Na EconomiaDocumento16 páginasO Papel Do Governo Na EconomiaRicardo RibeiroAinda não há avaliações
- As AG Lista 1 CGU José WesleyDocumento12 páginasAs AG Lista 1 CGU José WesleyCarlos FredericoAinda não há avaliações
- Legislação sobre arquivos públicos e privadosDocumento16 páginasLegislação sobre arquivos públicos e privadosFábio CarvalhoAinda não há avaliações
- Epidemiologia Aplicada Sa de Do TrabalhadorDocumento80 páginasEpidemiologia Aplicada Sa de Do TrabalhadorAna Beatriz Silva SampaioAinda não há avaliações
- Thomas Hobbes - Leviatã - FichamentoDocumento10 páginasThomas Hobbes - Leviatã - FichamentoLucas Tófoli LopesAinda não há avaliações
- Apostila De Noções De Direito ConstitucionalNo EverandApostila De Noções De Direito ConstitucionalAinda não há avaliações
- O Princípio da Publicidade no Direito AdministrativoNo EverandO Princípio da Publicidade no Direito AdministrativoAinda não há avaliações
- Política de Financiamento da Educação e Valorização do Magistério Público Estadual do AcreNo EverandPolítica de Financiamento da Educação e Valorização do Magistério Público Estadual do AcreAinda não há avaliações
- O Efeito Da Distribuição de Renda Sobre o Estado de Saúde Individual No BrasilDocumento36 páginasO Efeito Da Distribuição de Renda Sobre o Estado de Saúde Individual No BrasilLindOn GoisAinda não há avaliações
- Financiamento políticas saúde evolução pensamento econômicoDocumento48 páginasFinanciamento políticas saúde evolução pensamento econômicoLindOn GoisAinda não há avaliações
- A Importância Da Saúde Como Um Dos Determinantes Da Distribuição de Rendimentos Da População Adulta No BrasilDocumento26 páginasA Importância Da Saúde Como Um Dos Determinantes Da Distribuição de Rendimentos Da População Adulta No BrasilLindOn GoisAinda não há avaliações
- Por PDFDocumento276 páginasPor PDFLilca Moraira ChavesAinda não há avaliações
- Condições Socioeconômicas em SaúdeDocumento6 páginasCondições Socioeconômicas em SaúdePaulo TsunetaAinda não há avaliações
- Ficha Men ToDocumento3 páginasFicha Men ToLindOn GoisAinda não há avaliações
- Diferenciais de Utilização Do Cuidado de Saúde No Sistema Suplementar BrasileiroDocumento32 páginasDiferenciais de Utilização Do Cuidado de Saúde No Sistema Suplementar BrasileiroLindOn GoisAinda não há avaliações
- José Alcides - Classe Social e Desigualdade de Saude No Brasil PDFDocumento30 páginasJosé Alcides - Classe Social e Desigualdade de Saude No Brasil PDFLindOn GoisAinda não há avaliações
- A Importância Da Saúde Como Um Dos Determinantes Da Distribuição de Rendimentos Da População Adulta No BrasilDocumento26 páginasA Importância Da Saúde Como Um Dos Determinantes Da Distribuição de Rendimentos Da População Adulta No BrasilLindOn GoisAinda não há avaliações
- Desigualdade Social e Saúde No BrasilDocumento11 páginasDesigualdade Social e Saúde No BrasilLindOn GoisAinda não há avaliações
- Ficha Men ToDocumento2 páginasFicha Men ToLindOn GoisAinda não há avaliações
- Resenha - Texto Maria C. Tavares.Documento5 páginasResenha - Texto Maria C. Tavares.LindOn GoisAinda não há avaliações
- Sistema Econmico ComercialDocumento11 páginasSistema Econmico ComercialLindOn GoisAinda não há avaliações
- Discuss ÃoDocumento2 páginasDiscuss ÃoLindOn GoisAinda não há avaliações
- Evolução Política Ambiental Brasil Séc.XXDocumento14 páginasEvolução Política Ambiental Brasil Séc.XXLindOn GoisAinda não há avaliações
- Evolução Política Ambiental Brasil Séc.XXDocumento14 páginasEvolução Política Ambiental Brasil Séc.XXLindOn GoisAinda não há avaliações
- Aula 2. Estrutura FundiáriaDocumento6 páginasAula 2. Estrutura FundiáriaLindOn GoisAinda não há avaliações
- Evolução Política Ambiental Brasil Séc.XXDocumento14 páginasEvolução Política Ambiental Brasil Séc.XXLindOn GoisAinda não há avaliações
- Resenha Temática - Desingualdade e Pobreza No BrasilDocumento3 páginasResenha Temática - Desingualdade e Pobreza No BrasilLindOn GoisAinda não há avaliações
- Resenha - Texto Maria C. Tavares.Documento5 páginasResenha - Texto Maria C. Tavares.LindOn GoisAinda não há avaliações
- Trabalho Econometria Parte IIDocumento18 páginasTrabalho Econometria Parte IILindOn GoisAinda não há avaliações
- Do Milagre Ao II PND) PowerponitDocumento24 páginasDo Milagre Ao II PND) PowerponitLindOn GoisAinda não há avaliações
- Seleção Estágio MppeDocumento1 páginaSeleção Estágio MppeLindOn GoisAinda não há avaliações
- Trabalho Econometria Parte IIDocumento20 páginasTrabalho Econometria Parte IILindOn GoisAinda não há avaliações
- Ebook - Confeccao 4.0Documento11 páginasEbook - Confeccao 4.0João SacheteAinda não há avaliações
- A - Gestao - Dos - Recursos - Hidricos - e - A - MineracaoDocumento338 páginasA - Gestao - Dos - Recursos - Hidricos - e - A - MineracaoMaxwell RayAinda não há avaliações
- Como Fazer Amizade Com Uma Árvore PDFDocumento15 páginasComo Fazer Amizade Com Uma Árvore PDFScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Padrões ILPIs BHDocumento8 páginasPadrões ILPIs BHArthur OttoniAinda não há avaliações
- RESUMODocumento4 páginasRESUMOJoão Vitor Farias UFCAinda não há avaliações
- Queda Livre Massa AceleraçãoDocumento2 páginasQueda Livre Massa AceleraçãoJoão GuerraAinda não há avaliações
- PARANA 4ed 2023 APOSTILA NOVA PREVIDENCIADocumento53 páginasPARANA 4ed 2023 APOSTILA NOVA PREVIDENCIAsamuel.limados.santosAinda não há avaliações
- Procedimentos de ProtocoloDocumento80 páginasProcedimentos de ProtocoloFlávia Passos SalesAinda não há avaliações
- Ex Alv EditavelDocumento23 páginasEx Alv EditavelFrederico MorgadoAinda não há avaliações
- Representações geográficas na educaçãoDocumento6 páginasRepresentações geográficas na educaçãoCarlos RodriguesAinda não há avaliações
- Cicatrizes do amorDocumento8 páginasCicatrizes do amorTomaz Magalhães SeincmanAinda não há avaliações
- Interpretacao de Texto. SlidesDocumento29 páginasInterpretacao de Texto. SlidesAltair AntunesAinda não há avaliações
- CLASSICISMO - Atividades de Intertextualidade-1Documento2 páginasCLASSICISMO - Atividades de Intertextualidade-1rferraza.psantosAinda não há avaliações
- Exame 11º AnoDocumento15 páginasExame 11º AnoJuliana MoreiraAinda não há avaliações
- Geociências e Educação Ambiental: formação de professoresDocumento252 páginasGeociências e Educação Ambiental: formação de professoresPedro GelsonAinda não há avaliações
- 1º Atividade de Ciências 2° BimestreDocumento3 páginas1º Atividade de Ciências 2° BimestreMaria IsabellaAinda não há avaliações
- Cálculo de Duração Das Atividades para Os Alunos Sem RespostaDocumento6 páginasCálculo de Duração Das Atividades para Os Alunos Sem RespostaRicardo Sousa CruzAinda não há avaliações
- Ética e Cidadania para o Ensino Fundamental - Exam - VladiDocumento6 páginasÉtica e Cidadania para o Ensino Fundamental - Exam - VladiMichele SilvaAinda não há avaliações
- Orientações para o Estudo 2.4 Norbert Elias e A Sociologia FiguracionalDocumento4 páginasOrientações para o Estudo 2.4 Norbert Elias e A Sociologia FiguracionalRuiAinda não há avaliações
- John McCarthyDocumento6 páginasJohn McCarthyfilipe.diniz.xdAinda não há avaliações
- KERN - Ações Afirmativas e Politizacao Da Questao RacialDocumento18 páginasKERN - Ações Afirmativas e Politizacao Da Questao RacialWilliane PontesAinda não há avaliações
- Operação Da EscavadeiraDocumento5 páginasOperação Da Escavadeiradrico12Ainda não há avaliações
- Carderno ArtesDocumento58 páginasCarderno Artesadilson_Ainda não há avaliações
- A ascensão e apogeu da antiga Babilônia sob Hamurabi e NabucodonosorDocumento3 páginasA ascensão e apogeu da antiga Babilônia sob Hamurabi e NabucodonosorJohn FariasAinda não há avaliações
- Instruções de SegurançaDocumento10 páginasInstruções de Segurançaliliana0castro_1Ainda não há avaliações
- SI - Gove - Consuilta NacionalDocumento21 páginasSI - Gove - Consuilta Nacionalcarolina nevesAinda não há avaliações
- Um forró no umbral revela culpas e ensina sobre compaixãoDocumento16 páginasUm forró no umbral revela culpas e ensina sobre compaixãoGildo Torres100% (2)
- A triste formação de duas raças do Pastor AlemãoDocumento7 páginasA triste formação de duas raças do Pastor AlemãoHector Balke NodariAinda não há avaliações
- Os 7 chakras: entenda sua importância para a saúde integralDocumento11 páginasOs 7 chakras: entenda sua importância para a saúde integralLívia Gomes De MoraesAinda não há avaliações