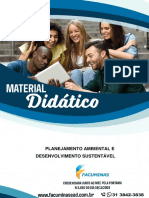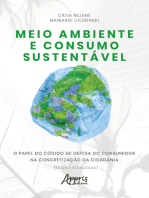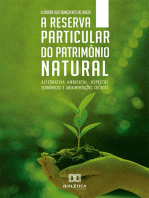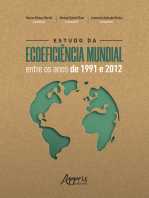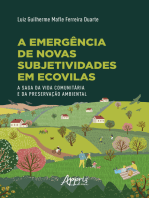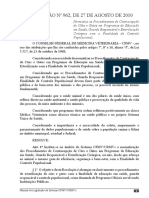Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Atividade Do Ecoturismo Como Instrumento de Preservação e Conservação Do Meio Ambiente
Enviado por
gutogama0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
414 visualizações686 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
414 visualizações686 páginasA Atividade Do Ecoturismo Como Instrumento de Preservação e Conservação Do Meio Ambiente
Enviado por
gutogamaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 686
WENDELL LIMA LOPES MEDEIROS
A ATIVIDADE DO ECOTURISMO COMO INSTRUMENTO DE
PRESERVAO E CONSERVAO DO MEIO AMBIENTE
DIREITO
PUC/SP
SO PAULO - SP
2006
WENDELL LIMA LOPES MEDEIROS
A ATIVIDADE DO ECOTURISMO COMO INSTRUMENTO DE
PRESERVAO E CONSERVAO DO MEIO AMBIENTE
Dissertao apresentada Banca
Examinadora da Pontifcia Universidade
Catlica de So Paulo, como exigncia
parcial para obteno do ttulo de
MESTRE em Direitos Sociais, sob
orientao da Prof Doutora Consuelo
Yatsuda Moromizato Yoshida.
DIREITO
PUC/SP
SO PAULO - SP
2006
A ATIVIDADE DO ECOTURISMO COMO INSTRUMENTO DE
PRESERVAO E CONSERVAO DO MEIO AMBIENTE
WENDELL LIMA LOPES MEDEIROS
BANCA EXAMINADORA
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
DEDICATRIA
Dedico a oportunidade desta realizao primeiramente a Deus, por ter me
permitido chegar at o presente momento com condies e capacidade para
desenvolver e concluir meus estudos, mesmo ante as dificuldades encontradas no
caminho, e por sempre me iluminar nos momentos difceis.
Dedico ainda, aos meus queridos pais, Neide e Eleonor, os quais, cada um
ao seu modo, foram amigos pacientes e principais incentivadores para que eu
pudesse seguir meu caminho em busca de minhas realizaes, bem como, por todo
o sacrifcio que fizeram em suas vidas para que eu pudesse me tornar uma pessoa
melhor e mais digna.
Tambm dedico este trabalho minha doce Caroline, luz da minha
existncia, companheira de todas as horas e essncia da minha vida, que segue
comigo por todos os meus dias compartilhando os bons e maus momentos que o
caminho nos revela.
Por fim, dedico este trabalho a toda minha famlia e amigos, bem como s
minhas grandes mestras que por extrema sabedoria e pacincia guiaram-me em
meus caminhos acadmicos: Rosana Siqueira Bertucci por ter despertado em mim o
interesse pelos Direitos Difusos e Coletivos, mas principalmente pela paixo pelo
estudo do Direito Ambiental, Regina Vera Vilas Boas cuja singeleza nos seus
ensinamentos nos induz a buscar cada vez mais o conhecimento necessrio, e
Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida cuja simplicidade e simpatia, no
compartilhamento de seus vastos conhecimentos, foram fundamentais para meu
engrandecimento por se tornar exemplo para mim enquanto operadora do direito.
AGRADECIMENTOS
Agradeo Prof Dr Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, por sua
sabedoria e humildade no desempenho de suas funes de mestre, a qual encarna
uma amante das cincias jurdicas, qualidade que a torna mais do que uma
professora no exato sentido em que visa compartilhar conhecimentos, tendo em
vista que no se limita apenas a ensinar, mas sim, estabelece uma relao de troca
mtua de conhecimento em seus ensinamentos sempre revestidos de entusiasmo e
dedicao, fazendo transparecer a satisfao em partilhar um pouco de sua vasta
sabedoria com aqueles que buscam o engrandecimento intelectual. Tambm, faz-se
necessrio agradecer pelo tempo e pacincia dispensados a este trabalho, tendo a
mesma exercido sua funo com total e indiscutvel competncia cuja caracterstica
ressaltada como uma de suas grandes qualidades.
Por fim, agradeo a todos os professores responsveis por minha formao
intelectual e profissional, que transmitiram os conhecimentos necessrios para
minha qualificao, e ainda, aqueles que mais do que professores foram mestres e
amigos, os quais engrandeceram no apenas meus conhecimentos tcnicos, mas
minhas qualidades humanas na formao de meu carter e na construo de uma
pessoa melhor no contexto social.
RESUMO
O presente trabalho monogrfico traz um estudo sobre a atividade do
Ecoturismo, cuja realizao alicerada em critrios de sustentabilidade, resulta em
um importante instrumento de desenvolvimento econmico e social, aliado a
manuteno da qualidade ambiental em prol da dignidade da pessoa humana por
viabilizar e garantir a todos uma vida mais sadia e com qualidade, premissas
fundamentais numa sociedade moderna e no Estado Democrtico de Direito. Assim,
sabendo que o mundo despertou para a questo ambiental, toda e qualquer
atividade a ser realizada, deve levar em considerao o meio ambiente, buscando
efetivar-se de forma sustentvel. Procuramos evidenciar com esse trabalho, a
importncia do Direito Ambiental numa sociedade moderna, destacando os
principais pontos referentes ao contexto ambiental, como seu surgimento e
evoluo, os aspectos concernentes ao bem ambiental e sua ordem protetiva na
seara jurisdicional interna e internacional. A Fauna, a Flora e os Recursos Hdricos,
por serem instrumentos de viabilizao da atividade do Ecoturismo e importantes
bens que compe o Meio Ambiente, tambm mereceram abordagem em seus
principais aspectos, assim como a questo do dano ambiental e de sua conseqente
responsabilizao na esfera civil, penal e administrativa. Aps estas abordagens
iniciais, remetemos nosso trabalho a nuance especfica da Atividade do Ecoturismo,
enfocando a viso sobre a atividade e seu desenvolvimento no mundo e no contexto
nacional, destacando tambm os principais princpios constitucionais que norteiam a
atividade, bem como, sobre os aspectos infraconstitucionais que viabilizam sua
realizao, principalmente no que diz respeito s Unidades de Conservao, sendo
abordado ainda a questo sobre o licenciamento ambiental. Por fim, evidenciamos a
Atividade do Ecoturismo como um importante instrumento viabilizador da proteo
ambiental, por buscar o desenvolvimento econmico de forma harmnica com a
preservao e conservao do meio ambiente, efetivando o desenvolvimento
sustentvel, sendo ainda destacado, que alm da questo ambiental, tambm age a
atividade como potencializador do desenvolvimento e progresso humano,
viabilizando uma vida mais digna, sadia e com qualidade para a populao
envolvida.
Palavras-chave: ecoturismo, meio ambiente, desenvolvimento sustentvel, direito
ambiental, consumidor.
ABSTRACT
This monograph studies the Ecotourism activity which realization based on
sustainability criterion, results in an important instrument of economic and social
development, joined to the environment quality in benefit of the human dignity as it
works to guarantee to all a healthy life with quality, fundamental premises in a
modern society and in the Democratic State of Law. Now that we know, world has
become awake to the environment issue, each and all activity carried on should be
concerned about the environment , trying to be developed in a sustainable way.
Through this work we intended to arise the Environment law importance in a modern
society, showing the main points related to the environment context, as its
appearance and evolution, its aspects concerned to the environment wealth and its
protective order in our own and international jurisdictional field. As fauna, flora and
hydric sources are instruments which make the Ecotourism activity possible and
important goods which compound the Environment , we also talked about its main
aspects as the environment damage and its consequent responsabilization in the
civil, penal and administrative sphere. Besides these initial approaches , we talked
about the specific area of Ecotourism Activity, focusing the activity and its
development in the world and in the national context, we show the main constitutional
principles that steer the activity, as well as, the infraconstitutional aspects that make
its realization possible mainly in relation to the Units Conservation and the
environmental license. At the end, we present the Ecotourism Activity, as an
important instrument to make the environment protection possible as it looks for
economic development in an harmonic way preserving and keeping the environment
conversation, carrying on sustainable development, we also show that besides the
environment issue, the activity helps human progress development too, turning the
population involved life worthy, healthy and with quality.
Keywords: ecotourism, environment, sustainable development, environment law,
consumer.
SUMRIO
INTRODUO..................................................................................................... 10
1 O DIREITO AMBIENTAL .................................................................................. 13
1.1 O ORDENAMENTO JURDICO BRASILEIRO............................................... 17
1.1.1 Panorama histrico constitucional.......................................................... 18
1.1.2 Aspectos infra-constitucionais................................................................ 21
2 O BEM AMBIENTAL......................................................................................... 23
2.1 ASPECTOS DO BEM AMBIENTAL............................................................... 24
2.1.1 Meio ambiente cultural ............................................................................ 24
2.1.2 Meio ambiente artificial............................................................................ 25
2.1.3 Meio ambiente do trabalho...................................................................... 27
2.1.4 Meio ambiente natural ou fsico.............................................................. 28
2.2 NATUREZA JURDICA DO BEM AMBIENTAL.............................................. 29
3 A FAUNA........................................................................................................... 34
3.1 ASPECTOS GERAIS..................................................................................... 35
3.2 FUNO ECOLGICA.................................................................................. 37
3.3 MULTIFINALIDADE DA FAUNA.................................................................... 37
3.4 TRFICO DE ANIMAIS SILVESTRES........................................................... 39
3.4.1 No Brasil ................................................................................................... 40
3.4.2 No mundo ................................................................................................. 40
4 FLORA .............................................................................................................. 44
4.1 ASPECTOS GERAIS..................................................................................... 44
4.2 AS FLORESTAS EM NOSSO ORDENAMENTO JURDICO......................... 46
4.2.1 Classificaes das florestas ................................................................... 47
5 RECURSOS HDRICOS.................................................................................... 49
5.1 ASPECTOS GERAIS..................................................................................... 49
5.2 CLASSIFICAO.......................................................................................... 50
5.3 OS RECURSOS HDRICOS EM NOSSO ORDENAMENTO JURDICO....... 50
6 DANO AMBIENTAL.......................................................................................... 53
6.1 CONCEITO DE DANO................................................................................... 54
6.2 HISTRICO SOBRE A REPARAO DO DANO......................................... 55
6.3 CARACTERSTICAS DO DANO AMBIENTAL .............................................. 58
6.4 CONCEITO DE POLUIO........................................................................... 60
7 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NA ATIVIDADE DO ECOTURISMO...... 63
7.1 NOES DE RESPONSABILIDADE ............................................................ 64
7.2 RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.................................................... 65
7.2.1 Responsabilidade civil subjetiva............................................................ 66
7.2.2 Responsabilidade civil objetiva.............................................................. 67
7.2.3 Responsabilidade civil na CF.................................................................. 74
7.2.4 Responsabilidade civil no CDC .............................................................. 75
7.2.5 Responsabilidade civil ambiental na atividade do ecoturismo............ 76
7.3 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.................................................... 84
7.4 RESPONSABILIDADE PENAL...................................................................... 85
7.5 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DO ESTADO ....................................... 88
8 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO.................................................................... 91
8.1 ASPECTOS GERAIS..................................................................................... 92
8.1.1 Fundamentos do ecoturismo.................................................................. 93
8.2 ECOTURISMO NO MUNDO.......................................................................... 95
8.2.1 A avaliao do Setor Turstico pelo Parlamento Europeu.................... 96
8.2.1.1 Questes prioritrias............................................................................... 97
8.2.1.2 Mecanismos gestores ............................................................................. 100
8.3 ECOTURISMO NO BRASIL........................................................................... 101
9 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO EM NOSSO ORDENAMENTO JURDICO. 107
9.1 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO E OS PRINCPIOS CONSTITUCIONAIS 109
9.1.1 Princpio da funo scio-ambiental da propriedade ........................ 112
9.1.2 Princpio da educao ambiental ......................................................... 113
9.1.3 Princpio da cooperao entre os povos............................................. 114
9.1.4 Princpio do acesso eqitativo dos recursos naturais....................... 115
9.1.5 Princpio do poluidor pagador.............................................................. 116
9.1.6 Princpio da reparao.......................................................................... 118
9.1.7 Princpio do equilbrio........................................................................... 119
9.1.8 Princpio da considerao da varivel ambiental no processo
decisrio de poltica de desenvolvimento.......................................... 119
9.1.9 Princpio da eficincia........................................................................... 120
9.1.10 Princpio da publicidade ....................................................................... 121
9.1.11 Princpio da garantia a honra, imagem e vida privada....................... 122
9.1.12 Princpio do desenvolvimento sustentvel ......................................... 123
9.1.13 Princpio da dignidade da pessoa humana e do direito humano
126fundamental ..................................................................................... 127
9.1.14 Princpio da participao (democrtico) ............................................. 128
9.1.15 Princpio da precauo ......................................................................... 129
9.1.16 Princpio da preveno ......................................................................... 131
9.1.17 Princpio da informao........................................................................ 132
9.1.18 Princpio da ubiqidade........................................................................ 133
9.1.19 Princpio da soberania .......................................................................... 134
9.1.20 Princpio da isonomia ........................................................................... 135
9.1.21 Princpio da liberdade e justia............................................................ 136
9.1.22 Princpio da pobreza e solidariedade .................................................. 137
9.1.23 Princpio da harmonizao da atividade econmica.......................... 139
9.1.24 Principio da tolerabilidade ambiental .................................................. 140
9.2 A ATI VI DADE DO ECOTURI SMO NA CONSTITUIO FEDERAL
DE 1988 ........................................................................................................ 143
9.3 ASPECTOS INFRACONSTITUCIONAIS APLICADOS DA ATIVIDADE DO
ECOTURISMO............................................................................................... 145
9.4 AS UNIDADES DE CONSERVAO COMO INSTRUMENTOS VIABILIZADORES
DA ATIVIDADE DO ECOTURISMO E DA PROTEO DO MEIO
AMBIENTE..................................................................................................... 153
10 LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA ATIVIDADE DO ECOTURISMO......... 161
10.1 O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 164
11 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAO
E CONSERVAO DO MEIO AMBIENTE................................................... 168
11.1 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO COMO INSTRUMENTO VIABILIZADOR
DO DIREITO AO LAZER.............................................................................. 172
11.2 CARACTERIZAO DO ECOTURISMO COMO ATIVIDADE ECONMICA
DE CONSUMO............................................................................................. 179
CONCLUSO...................................................................................................... 180
REFERNCIAS.................................................................................................... 184
ANEXO ................................................................................................................ 188
INTRODUO
Este trabalho tem por finalidade demonstrar a importncia da atividade do
ecoturismo para o desenvolvimento econmico e social de forma sustentvel, que
sendo realizada de forma planejada e corretamente adequada, ainda que no possa
impedir a degradao ambiental e conseqentemente a devastao do meio
ambiente amplamente considerado, possa ao menos somar-se aos instrumentos de
defesa ambiental, atuando em favor da populao no sentido de se fazer necessrio
a preservao do meio ambiente para atingimento do desenvolvimento local, visando
diminuir ao mximo o impacto causado ao meio ambiente atravs de um turismo
ecolgico, alcanando o objetivo do denominado desenvolvimento sustentvel.
Muitos so os fatores que envolvem a questo do ecoturismo em relao
preservao do Meio Ambiente, sendo que neste trabalho sero abordados aspectos
da importncia de se desenvolver atividades econmicas voltadas a preocupao
ambiental, visando difundir uma conscientizao ecolgica e atuando como
impulsionador do desenvolvimento local, garantindo e propiciando as populaes
envolvidas, uma sadia e melhor qualidade de vida.
As perdas ambientais que podem ser evitadas com o desenvolvimento da
atividade do ecoturismo, em razo da degradao que comumente se evidencia a
cada dia no globo terrestre, como por exemplo, o trfico de animais silvestres, que
resulta no terceiro maior comrcio ilegal do mundo movimentando bilhes de dlares
todos os anos, e que causa uma enorme perda para o meio ambiente e,
conseqentemente, para toda a humanidade, podendo ser evitado ou ao menos
diminudo, se a atividade em questo que se desenvolve com o despertar de uma
conscientizao ecolgica com base em critrios de sustentabilidade, possa ser
desenvolvida e incentivada.
11
Antes de adentrarmos na seara mais especfica do aspecto jurdico que
cerca a atividade do ecoturismo, mencionaremos, ainda que de forma geral, os
aspetos fundamentais da referida atividade, e ainda, sob o enfoque das questes
sociais e estruturais que resultam em vrios aspectos formais cuja complexidade nos
remete a uma discusso de suma importncia para evidenciar que o turismo
ecolgico deve ser realizado, alicerado no desenvolvimento sustentvel e na
adoo de polticas que visem permitir seu desenvolvimento de forma racional e de
forma a preservar o meio ambiente para as presentes e futuras geraes.
Abordando estes aspectos primordiais para os nossos estudos, trataremos
de alguns pontos cruciais e de extrema relevncia consecuo da atividade do
ecoturismo e que merecem destaque para que possamos demonstrar a necessidade
de pensarmos a estruturao desta atividade com a finalidade de obter meios de
atingir sua funo principal: que so a preservao e conservao do meio ambiente
aliada ao desenvolvimento scio-econmico, visando auferir para as comunidades a
garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial sadia
qualidade de vida proporcionando assim, uma vida digna a todos os seres humanos,
em especial a comunidade envolvida e onde se desenvolve a atividade ecoturstica.
Contudo, para demonstrar que a preocupao com a atividade do turismo
sustentvel a qual pertence o ecoturismo ou turismo ecolgico redunda numa
preocupao a nvel global, ser trazido baila a mobilizao gerada pela Unio
Europia, cuja preocupao com o turismo sustentvel resultou numa srie de metas
e estudos com vistas criao de um setor que agrupe estas caractersticas, de
forma a culminar no desenvolvimento de polticas que resultem na sustentabilidade
desta promissora atividade na Europa.
Aps serem feitas estas consideraes, abordaremos os aspectos legais de
nosso ordenamento jurdico, inicialmente trazendo o enfoque dos princpios
norteadores do direito ambiental e do direito do consumidor que incidem com mais
destaque sobre a regulamentao da atividade ecoturstica, bem como os
prembulos constitucionais e infraconstitucionais que envolvem o ecoturismo, de
forma a evidenciar como o aparato legislativo que regula a atividade do chamado
turismo ecolgico.
12
Dentre os instrumentos legais para a preservao e conservao do meio
ambiente, destacamos as unidades de conservao regulamentada em nosso
ordenamento jurdico pela Lei n 9.985 de 18 de julho de 2000, em que
demonstraremos sua importncia para o desenvolvimento sustentvel ao ser aliada
atividade do Ecoturismo.
Por fim, evidenciaremos os motivos pelos quais a realizao da atividade do
Ecoturismo de forma racional e planejada, com a adoo de medidas que possam
alicerar seu desenvolvimento, e, somadas a realizao e implementao de
polticas corretas que levem em considerao no apenas os aspectos econmicos,
mas tambm scio-ambientais, resultem no atingimento do denominado
desenvolvimento sustentado.
Deste modo, ser demonstrado que sem sombras de dvidas, a atividade do
Ecoturismo redunda por suas caractersticas em razo primordial do
desenvolvimento sustentvel, num dos instrumentos mais eficazes para a
preservao e conservao do meio ambiente, pautado na utilizao racional dos
recursos ambientais para o turismo, haja vista que provoca, antes de tudo, um
sentimento de que utilizar correto, mas preservar essencial.
1 O DIREITO AMBIENTAL
O Direito uma cincia social, e como tal, est intimamente relacionada
mobilidade social, sendo que o direito no existe seno em face da sociedade e por
tal motivo a sua evoluo comanda e estimula a evoluo dessa cincia onde cada
poca guarda seus acontecimentos relevantes, e, Por essa razo o desenvolvimento
do direito ambiental deve necessariamente passar pela Histria, acompanhando as
mudanas sociais e culturais dos povos.
Com o aumento da poluio nos pases industrializados e nos pases de
economia agrria o gravame da devastao ambiental, sem medir fronteiras fsicas,
polticas e econmicas e o esgotamento dos recursos naturais, dentre outros fatores
ocorridos nas ltimas dcadas, principalmente nos anos 70 e 80, desencadeou um
processo de preocupao com o meio ambiente, cujo resultado ultrapassou as
fronteiras das Cincias Naturais para integrar o dia a dia de polticos, economistas,
socilogos, dentre muitos outros, e, como no poderia deixar de ser, dos
profissionais do Direito.
Embora a maior reflexo dos estudiosos para a questo ambiental, num
primeiro momento ainda no se remetia idia de ecologia, ou mesmo de proteo
ambiental, explica-se tal fato porque a cincia denominada ecologia somente surgiria
em 1895, desenvolvida pelo professor Eugen Warming que ensinava Botnica na
Universidade de Copenhague.
Com o desenvolvimento do Direito, fato que nos levou a uma adaptao da
regra social e a proteo em escala de importncia de cada bem jurdico, tutelou
assim o bem ambiental, resultando na considerao de sua incontestvel
importncia para a qualidade da vida humana.
14
O Direito Ambiental foi definido no Brasil, em carter pioneiro no ano de
1975, por Coelho (1975, p. 5 apud Freitas, 2001, p. 19), como sendo:
[...] um sistema de normas jurdicas que, estabelecendo limitaes ao
direito de propriedade e ao direito de propriedade e ao direito de
explorao econmica dos recursos da natureza, objetivam a
preservao do meio ambiente com vistas melhor qualidade da
vida humana.
Consagrada, atualmente expresso Direito Ambiental, pode-se afirmar que
ela se caracteriza por ser multidisciplinar e pela complexidade que se reveste, no
podendo ser estudada de maneira solitria, e tendo que orientar suas pesquisas por
este ou aquele ramo do Direito e de outras cincias.
Do ponto de vista jurdico, ser imprescindvel o estudo do Direito
Internacional Pblico, onde Tratados e Convenes Internacionais assumem
especial relevncia face a notria e preocupante realidade mundial diante da
necessidade de inadiveis relaes internacionais, bem como, imprescindvel o
estudo do Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Civil,
Direito Processual Civil, dentre outros ramos do Direito Positivo.
Com a repercusso da questo ambiental, os Estados passaram a aceitar
uma responsabilidade jurdico-ambiental no plano internacional, buscando
estabelecer princpios e regras capazes de prevenir, mitigar ou reverter impactos
causados no meio ambiente, tanto por polticas pblicas quanto por aes privadas.
O avano da matria ambiental apoiou-se em princpios gerais que, a partir
da Conferncia de Estocolmo, realizada em 1972 e em especial durante o processo
preparatrio da Conferncia do Rio, em 1992, serviram para a formulao de regras
obrigatrias e no obrigatrias orientadas promoo do desenvolvimento
sustentvel.
Ademais, a Conferncia de Estocolmo representou um marco para o
tratamento dos temas ambientais e sua regulao jurdica, estabelecendo em seu
princpio 21, que:
[...] os Estados tm, de acordo como a Carta das Naes Unidas e
os princpios de direito internacional, o direito soberano de explorar
seus prprios recursos de conformidade com suas prprias polticas
ambientais, e a responsabilidade de assegurar que as atividades
15
dentro de sua jurisdio ou controle no causem dano ao meio
ambiente de outros Estados ou reas alm dos limites de jurisdio.
1
Considerando a Conveno sobre Poluio Atmosfrica Transfronteiria
longa distncia, o Princpio 21 da Declarao de Estocolmo exprime uma convico
comum conforme a Carta das Naes Unidas e os princpios de direito ambiental,
expressando claramente que os Estados tm uma liberdade relativa ou uma
liberdade controlada para a explorao de seus recursos naturais.
Da mesma forma, a Declarao do Rio/92 teve como objetivo a proclamao
das matrias ambientais, orientando as polticas econmicas e sociais em todo o
mundo, bem como, dez anos depois, na Rio + 10, ocorrida em Joanesburgo em
2002, houve a reafirmao com a questo ambiental e desenvolvimento sustentvel.
Assim, a Declarao do Rio/92 teve como meta reafirmar a Declarao de
Estocolmo e, com base nela estabelecer uma nova e justa associao global
mediante a criao de novos nveis de cooperao entre os Estados, os setores
importantes da sociedade e o povo; trabalhando com vistas a acordos internacionais
que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do meio ambiente o
sistema de desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente do
globo terrestre.
Aps as duas primeiras iniciativas, ou seja, Estocolmo/72 e a Rio/92, que
foram muito importantes no sentido da preocupao com meio ambiente no mundo e
alavancou o direito como um todo no globo terrestre para a proteo e conservao
do meio ambiente, a terceira conferncia foi a de Joanesburgo 2002, tambm
denominada Conferncia das Naes Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento
Sustentvel.
Tal conferncia mundial foi realizada com o intuito de avaliar o progresso
ambiental observado entre uma e outra conferncia realizada na dcada anterior,
visando tambm efetivar mecanismos para implementao da Agenda-21 que havia
sido proposta em 1992, haja vista que, em uma sesso especial da Assemblia Geral
da ONU denominada Rio+5, verificou-se lacunas nos resultados da Agenda 21.
1
Revista Cincia & Ambiente. Campo Grande: UFMS, vol. 17, julho/dezembro, 1998, p. 29.
16
Temos em destaque ainda, o protocolo de Kioto, proposto em 1997, na
cidade com o mesmo nome, mas que somente no ano de 2005 recebeu as
assinaturas necessrias de no mnimo 55 pases para que fosse efetivada, uma vez
que esbarrou em grandes problemas e impasses entre os pases mais ricos.
O Objetivo do referido instrumento a implementao de uma poltica
mundial sobre mudanas climticas para que seja acordada a reduo das emisses
de gases que provocam o efeito estufa no globo, em aproximadamente 5% abaixo
dos nveis registrados em 1990, amenizando assim suas conseqncias. Porm,
certo que a maior potncia do mundo, os EUA, no assinara o referido protocolo.
Podemos assim considerar que o Direito Ambiental surge como uma nova
cincia, uma vez que, observamos que esta possui suas prprias fontes formadoras,
e ainda, por tratar o Direito Ambiental de tutelar direito difuso, cabe aqui a assertiva
de que o Direito Ambiental no surge apenas como um ramo do Direito Pblico e,
contudo, no podendo ser englobado como ramo de Direito Privado, vindo a eclodir
como um novo ramo do direito, chancelando direitos que configuram os interesses
difusos e coletivos.
Tratando-se das fontes formais, h as Leis, como as dispostas em nossa
Carta Magna de 1988 (art. 225 da CF/88), bem como as leis esparsas e as normas
administrativas que tratam da matria ambiental, como a Lei 9.605 de 1998, que
dispe sobre os crimes ambientais, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservao (SNUC) n 9.985 de 2000, casos concretos; havendo ainda, o costume
e os princpios do direito, sendo observado que o Brasil recepciona todos os
princpios fundamentais existentes, como o Princpio do Desenvolvimento
Sustentvel, o Princpio do Poluidor-pagador, dentre outros que sero amplamente
comentados adiante.
Como fontes informais, citamos a doutrina que expressa os pensamentos e
entendimentos dos cientistas do direito em relao aos interesses sociais e sobre as
matrias de direito ambiental e, a jurisprudncia que configura os entendimentos de
nossos tribunais superiores em relao aplicao do Direito como fruto do
interesse da coletividade.
17
As fontes do Direito Ambiental podem ser consideradas mltiplas, sendo
observadas relaes bastante complexas entre si, haja vista que, materialmente, as
fontes consideradas so bastante variadas, como exemplo, o movimento do cidado
por uma melhor qualidade de vida, contra os riscos quem possam advir da utilizao
de determinados produtos e a realizao de prticas que podem ser consideradas
prejudiciais sade e a qualidade de vida, dentre as infinitas possibilidades
existentes.
1.1 O ORDENAMENTO JURDICO BRASILEIRO
Feita estas explanaes iniciais, podemos afirmar que estes fatores
alavancam o direito num processo inserido no prprio contexto histrico e, por tais
motivos, o estudo da evoluo do Direito Ambiental no Brasil deve necessariamente
passar pela Histria, de forma a acompanhar a evoluo social e cultural de nossa
sociedade, remetendo-nos s diversas fases evolutivas que transcorreram at a
maturao do panorama jurdico atual.
As primeiras leis que encontramos no Brasil no liame de sua histria,
evidentemente so originrias de Portugal, que j vinha protegendo seus recursos
naturais da depredao, e quando descobriu o Brasil j possua uma considervel
legislao de proteo ambiental, podendo ser considerada como bastante evoluda.
Dentre elas, destaca-se algumas disposies relevantes, como por exemplo, a
proibio do corte deliberado de rvores frutferas em 12 de maro de 1393, bem
como, a Ordenao de 09 de novembro de 1326, que visava proteo das aves e
equiparava seu furto a qualquer outra espcie de crime para seus efeitos delituosos.
Essas medidas foram copiladas nas Ordenaes Afonsinas e introduzidas
no Brasil quando de seu descobrimento, sendo que, desde ento, podemos observar
que a legislao ambiental teve grandes progressos em nossas terras,
desenvolvendo-se de tal forma na fase colonial, que esse perodo pode ser
considerado como a fase embrionria de nosso Direito Ambiental, no parando de
crescer, e chegando a fase atual como um direito especializado, destacando-se na
era contempornea como um dos mais importantes.
18
1.1.1 Panorama histrico constitucional
Podemos remeter nossa anlise sobre o aspecto da constitucionalidade do
Direito Ambiental ao contexto evolutivo da histria de nossa sociedade, inicialmente
considerando que a Constituio Federal de 1988 em posio as constituies
anteriores e no que diz respeito matria de meio ambiente e sua tutela jurdica,
trouxe uma imensa novidade em relao s demais, pelo fato de que estas no
trataram a matria referente ao meio ambiente de forma mais ampla e completa,
como observado na CF/88, mas, fizeram referncias de forma no sistemtica,
tendo sido os recursos ambientais considerados, essencialmente, como recursos
econmicos.
Feitas estas consideraes, abordaremos o aspecto constitucional da tutela
ao meio ambiente durante vrias fases de nossa histria, iniciando assim, com o
Perodo Imperial, no qual observamos a Constituio Imperial de 1924, que no
trazia em seu conjunto normativo qualquer referncia matria ambiental, sendo
considerada irrelevante, portanto, para qualquer abordagem, a no ser para
constatar de que era, no mnimo, curiosa tal situao, uma vez que o Brasil era um
pas essencialmente exportador de produtos agrcolas e minerais, porm, onde
predominava a concepo de que o Estado no deveria interferir nas atividades
econmicas, melhor dizendo, fazia-se isto por absteno, e assim no restava
Constituio perfilar uma ordem econmica constitucional.
Observa-se, entretanto, que as regulamentaes referentes ao meio
ambiente, somente foram institudas com as atribuies outorgadas s Cmaras
Municipais com o advento da Lei de 1 de outubro de 1928, conforme exemplo
descrito no art. 66, 1, que explcita:
Art. 66. Tero a seu cargo tudo quanto diz respeito polcia, a
economia das povoaes e seus termos, pelo que tomaro
deliberaes e provero por suas posturas sobre os objetos
seguintes:
1. Alinhamento, limpeza, iluminao e despachamento das ruas,
cais e praas, conservao e reparos das muralhas feitas para
seguranas dos edifcios, prises pblicas, caladas, pontes, fontes,
aquedutos, chafarizes, poos, tanques, e quaisquer outras
construes em benefcio comum dos habitantes, ou para decoro e
ornamento das povoaes (ANTUNES, 2002, p. 40).
19
Ressalta-se que havia um conjunto de outras atribuies que poderiam ter
em relao tutela jurisdicional do meio ambiente, tendo em vista a competncia
para argir em relao a feiras, abatedouros de gado, dentre outras.
Em se tratando do Perodo Republicano, explicitamos que nesta poca de
nossa histria surge uma maior preocupao em relao s matrias ambientais,
tendo na Constituio Federal de 1891, constante em seu artigo 34, n 29 a outorga
constitucional que atribua Unio, competncia legislativa para legislar sobre suas
minas e terras, e a Constituio Federal de 1934, atribua competncia legislativa a
Unio para legislar sobre bens de domnio federal, riquezas de subsolo, minerao,
metalurgia, gua, energia hidreltrica, florestas, caa, pesca e sua explorao
(ANTUNES, 2002, p. 41).
Na Constituio Federal de 1937, o inciso XIV do artigo 16, dispunha sobre a
competncia privativa da Unio em legislar sobre os bens de domnio federal,
minas, metalurgia, energia hidrulica, guas, florestas, caa e pesca e sua
explorao (Idem, p. 41).
A Constituio de 1946, em seu artigo 5, inciso XV, alnea l, dispunha sobre
a competncia da Unio para legislar sobre riquezas do subsolo, minerao,
metalurgia, gua, energia eltrica, florestas, caa e pesca (Idem, p. 41).
A Constituio Federal de 1967 estabelece em seu artigo 8, inciso XII,
competncia Unio para organizar a defesa permanente contra calamidades
pblicas, especialmente a seca e as inundaes e, temos ainda a ressaltar em
relao a este conjunto normativo, que outorgava competncia Unio para que
esta explorasse diretamente ou mediante autorizao ou concesso, os servios e
instalaes de energia eltrica de qualquer origem ou natureza, tendo ainda, esta
Carta Magna, estipulado competncia legislativa Unio para legislar sobre: direito
agrrio; normas gerais de segurana e proteo da sade; guas e energia eltrica
(Idem p. 41-42).
Por fim, para terminarmos as explanaes acerca das constituies
anteriores a nossa atual Carta Constitucional de 1988, concebemos que a Emenda
Constitucional n 1, de 17 de outubro de 1969, manteve consolidado os termos
descritos na CF/67, ressalvando-se uma pequena mudana no tocante
20
competncia legislativa concernente Unio em relao energia, tendo sido esta
subdividida em eltrica, trmica, nuclear ou de qualquer outra natureza.
Enfim remetemos nossa anlise ao contedo da CF/88, que possui um
diferencial em relao s constituies anteriores, pois, alm de possuir um captulo
especfico para as questes do meio ambiente, tambm possui outros dispositivos
que tutelam as obrigaes do Estado e da sociedade em relao ao meio ambiente.
Enquanto consideradas como fontes fundamentais da sociedade, a tutela
jurisdicional dos dispositivos consagrados em nossa Carta Magna, tem por objeto
tutelar valores e funes sociais que por certo, na atual conjuntura global, envolvem
o desenvolvimento econmico com a proteo do meio ambiente, que em seus
diversos aspectos constitui um dos componentes da estrutura basilar de toda a
sociedade, como observa Antunes (2002, p. 41) , ao afirmar que:
A Lei Fundamental reconhece que as questes pertinentes ao meio
ambiente so de vital importncia para o conjunto de nossa
sociedade, seja porque so necessrias para a preservao de
valores que no podem ser mensurados economicamente, seja
porque a defesa do meio ambiente um princpio constitucional que
fundamenta a atividade econmica (Constituio Federal artigo 170,
VI).
Em nossa Constituio Federal encontramos dispositivos que tratam do
meio ambiente, ou, a ele vinculam-se direta ou indiretamente, sendo: artigo 1, artigo
5, incisos XXIII, LXXI, LXXIII; artigo 20, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI e 1
e 2; artigo 21, incisos XIX, XX, XXIII, alneas a, b e c, XXV; artigo 22, incisos IV, XII,
XVI; artigo 23, incisos I, III, IV, VI, VII, IX, XI; artigo 24, incisos VI, VII, VIII; artigo 43,
2, IV, e 3; artigo 49, incisos XIV, XVI; artigo 91, 1, inciso 3; artigo 129, inciso
III; artigo 170, inciso VI; artigo 174, 3 e 4; artigo 176 e ; artigo 182 e ; artigo
186; artigo 200, incisos VII, VIII; artigo 216, inciso V e 1, 3 e 4; artigo 225;
artigo 231; artigo 232; e, artigos 43, 44 e do Ato das Disposies Constitucionais
Transitrias.
21
1.1.2 Aspectos infraconstitucionais
Apresenta-se o Direito Ambiental em relao aos aspectos
infraconstitucionais, dispondo sobre as formas de tutela dos considerados Bens
Ambientais, visando proteo ambiental do meio ambiente, seja ele cultural,
artificial, do trabalho ou natural (fsico).
Podemos considerar que o exerccio da tutela jurisdicional do meio
ambiente, levando-se em conta seus aspectos infraconstitucionais, so realizados de
forma a utilizar-se de uma poltica de proteo ambiental que utiliza-se de critrios
objetivos e subjetivos, visando proteger o meio ambiente da poluio e degradao,
e, quando no for possvel tal realizao, incentivar a sua recuperao com o
objetivo de sua reparao.
Para que os objetivos de uma poltica de proteo ambiental sejam
efetivamente alcanados, devemos nos valer dos chamados instrumentos de tutela
ambiental, que constituem:
[...] todo instituto destinado e utilizado tanto pelo Poder Pblico,
quanto pela coletividade na preservao ou na proteo dos bens
ambientais, constituindo-se como instrumento de tutela ambiental.
(FIORILLO; RODRIGUES, 1997, p. 162).
Podemos considerar como um marco preponderante para a proteo do
meio ambiente a edio da Lei 6938/81 que dispe sobre a Poltica Nacional do
Meio Ambiente, pois, com esse diploma tornou-se mais efetiva a chancela jurdica
em relao ao meio ambiente.
Existem, porm, vrias outras disposies acerca da matria ambiental, sob
o aspecto infraconstitucional, que visam tutela dos recursos naturais, como a
proteo da qualidade da gua, da qualidade do ar, da fauna e flora, contra a
poluio por resduos slidos, contra a poluio sonora, contra a poluio advinda de
atividades nucleares, e a proteo ao patrimnio gentico, tendo sido tais recursos
chancelados por diversos documentos legais em nosso ordenamento jurdico, os
quais no iremos abordar haja vista sua extenso, porm, podemos destacar como
exemplos o Decreto 26.643/34, que cria o Cdigo de guas; a Lei 4.771/65, que cria
o Cdigo Florestal; o Decreto-Lei 1.473/75, que dispe sobre medidas necessrias
22
preveno, adequao e correo das perturbaes e prejuzos causados por
atividades industriais no meio ambiente; a Lei 5.197/67 que a Lei de Proteo
Fauna; a Lei 9.985/2000 que a Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservao (SNUC), a Lei 10.257/2001 que institui o Estatuto da Cidade, dentre
muitas outras.
2 O BEM AMBIENTAL
O Direito Ambiental visa tutelar o bem ambiental, sendo este de carter
fundamental e amplamente tutelado em nosso ordenamento jurdico, cuja tutela se
d, primordialmente, por institutos normativos constantes em nossa Carta
Constitucional.
Por bem ambiental podemos considerar todos aqueles bens que compem o
meio ambiente como um todo e que possui natureza difusa e coletiva, ou seja,
aqueles que se encontram inseridos nos aspectos cultural, artificial, laboral (do
trabalho), ou ainda sob o bice do ambiente natural ou fsico.
Essa diviso referente aos bens componentes do meio ambiente ocorre
unicamente para fins metodolgicos, em que so apresentadas as diversas facetas
do bem ambiental para que no fiquemos ligados idia de que o Direito Ambiental
ao tutelar o ambiente, o faz apenas em relao ao bem ambiental natural, pois,
atualmente consideramos como objeto do Direito Ambiental o bem ambiental
amplamente considerado, objetivando uma vida digna, sadia, e ainda, com
qualidade.
O bem ambiental de suma importncia para o tema proposto, tendo em
vista que a atividade do Ecoturismo se desenvolve ao utilizar-se de tais recursos
ambientais de forma mais sustentvel possvel, aliando explorao de atividade
econmica e preservao do meio ambiente, dando-se tal atividade em razo
principalmente no meio ambiente natural ou fsico, e, face ao meio ambiente cultural.
Observaremos com maior clareza os aspectos do bem ambiental dado a sua
finalidade fundamental enquanto constituinte do direito a um meio ambiente
saudvel e equilibrado, atendendo os fins sociais, bem como explicitar cada uma das
divises conceituais do meio ambiente, existentes, inclusive, demonstrando sua
24
insero em nosso ordenamento jurdico enquanto fundamentado legalmente sob a
rbita constitucional e infraconstitucional.
2.1 ASPECTOS DO BEM AMBIENTAL
Os bens ambientais so os bens que compem o meio ambiente em que
vivemos, sendo os mesmos devidamente tutelados em nosso ordenamento jurdico,
e, para fins metodolgicos, tem se apresentado sob quatro aspectos que a doutrina
achou por bem adotar para efetivar a tutela do objeto do direito ambiental, que so
aqueles que constituem o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial, meio
ambiente do trabalho e meio ambiente natural ou fsico, sendo certo que
discorreremos sobre cada um mais detalhadamente.
Veremos que o fato do bem ambiental apresentar-se sob estes quatros
aspectos, objetiva-se demonstrar que as agresses ao meio ambiente podem
ocorrer de vrias formas, destacando ser o objetivo mais importante, tutelar a vida
saudvel, digna e com qualidade, identificando assim sob o aspecto do meio
ambiente, aqueles valores que restaram aviltados, tanto no aspecto constitucional
quanto no aspecto infraconstitucional.
2.1.1 Meio ambiente cultural
O meio ambiente cultural aquele constitudo pelo patrimnio histrico,
artstico, arqueolgico, paisagstico, turstico, embora que, via de regra seja dotado
de caracterstica artificial por ser originado pela ao do homem, tem sua diferena
pautada na sua valorao, sendo que tido como dotado de especialidade, e
portanto, de suma importncia para o desenvolvimento da atividade do Ecoturismo,
tendo em vista que o mesmo se desenvolve, justamente, em razo dos bens que
compem esta categoria.
Os bens que compem o chamado patrimnio cultural so aqueles que
podemos considerar como constituintes da histria de um povo, sua formao,
25
cultura e, portanto, os prprios elementos identificadores de sua cidadania, sendo
este um dos princpios fundamentais da Repblica e do Estado Social de Direito.
O patrimnio cultural no corresponde somente queles em que um
processo institucional j o tenha reconhecido, mas aos que sejam realmente
significativos, ainda que passveis a controvrsias por sua importncia atribuda pela
coletividade: numa perspectiva em que esta referncia no sendo mais ao,
consiga de certa forma determina-la pelo trao de identidade (ANTUNES, 2002, p.
57).
O patrimnio cultural brasileiro vem regido pelo artigo 216 da CF/88,
podendo-se dizer que h uma delimitao legal do que seja tal patrimnio, referindo-
se queles bens materiais e imateriais previstos no preceito legal:
Art. 216: Constituem patrimnio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referncia identidade, ao, memria
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira nos quais
se incluem:
I - as formas de expresso;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criaes cientficas, artsticas e tecnolgicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificaes e demais espaos
destinados s manifestaes artstico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e stios de valor histrico, paisagstico,
artstico, arqueolgico, paleontolgico, ecolgico e cientfico.
1. O Poder Pblico, com a colaborao da comunidade,
promover e proteger o patrimnio cultural brasileiro, por meio de
inventrios, registros, vigilncia, tombamento e desapropriao, e de
outras formas de acautelamento e preservao.
2 Cabem Administrao Pblica, na forma da lei, a gesto da
documentao governamental e as providncias para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem.
3 A lei estabelecer incentivos para a produo e o conhecimento
de bens e valores culturais.
4 Os danos e ameaas ao patrimnio cultural sero punidos na
forma da lei.
5 Ficam tombados todos os documentos e os stios detentores de
reminiscncias histricas dos antigos quilombos.
2.1.2 Meio ambiente artificial
O conceito de meio ambiente artificial definido por Fiorillo e Rodrigues
(1997), como sendo aquele constitudo pelo espao urbano construdo,
26
consubstanciado no conjunto de edificaes (espao urbano fechado) e dos
equipamentos pblicos (espao urbano aberto). Salienta-se que o termo urbano
utilizado para a conceituao do meio ambiente artificial no utilizado no sentido
contraposto de rural ou campo, pelo fato de que qualifica algo referente a todos
os espaos habitveis, contendo uma natureza que se remete noo de
territorialidade (ANTUNES, 2002, p. 59).
Em relao proteo do meio ambiente artificial em nosso ordenamento
jurdico, atravs de normas constitucionais, destacamos, no s o artigo 182 e
seguintes da CF/88 sem desvincular sua interpretao do artigo 225 do mesmo
diploma, como tambm, em referncia ao artigo 21, XX e artigo 5, XXIII, dentre
outros, em que se conclui que no podemos desvincular o meio ambiente artificial do
conceito de direito sadia qualidade de vida, bem como aos valores da dignidade
humana e da prpria vida, podendo-se dizer, contudo, que o meio ambiente artificial
est mediato e imediatamente tutelado pela CF/88.
Podemos considerar mediatamente tutelado o meio ambiente artificial, pelo
fato de que, sua tutela expressa-se na proteo geral do meio ambiente quando se
refere ao direito vida no art. 5, caput, bem como explcita no art. 225 que no
basta apenas o direito de viver, mas remete-se ao direito de viver com qualidade,
sendo ainda percebido em razo do artigo 1, quando se refere dignidade humana
como um dos fundamentos da Repblica e no artigo 6, quando alude aos direitos
sociais; e, por fim, no artigo 24, ao estabelecer competncia concorrente para
legislar sobre o meio ambiente, visando proteger mais amplamente estes valores,
dentre outros.
Contudo, a proteo constitucional imediata do meio ambiente artificial pode
ser observada com o disposto nos artigos 182, 21, inciso XX e 5, inciso XXIII da
Carta Constitucional vigente.
A CF/88 ao dar ensejo poltica urbana, impreterivelmente, tutelou o meio
ambiente artificial, realizando-a no apenas voltado para um quadro nacional, mas
de forma ainda mais especifica e abrangente ao destacar sua incidncia na rbita
municipal, partindo do maior para o menor, nos termos do art. 21, inciso XX, seno
vejamos:
27
Compete a Unio: [...]
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitao, saneamento bsico e transportes urbanos.
Utilizando-se da aluso por parte do prprio texto constitucional, podemos
afirmar que o principal objetivo da poltica de desenvolvimento urbano, viabilizado
atravs da existncia de uma lei que tem por escopo fixar diretrizes gerais para sua
viabilizao, conforme explcita o artigo 182 da CF/88, resulta no desenvolvimento
das funes sociais da cidade e o bem estar dos seus habitantes, estabelecido
atravs de uma poltica de desenvolvimento, cujas primcias vo ao encontro dos
mesmos objetivos perseguidos para a realizao da atividade do Ecoturismo, por
apregoarem a necessidade de uma infra-estrutura mnima para que seu objeto seja
atingido e concretizado.
2.1.3 Meio ambiente do trabalho
Podemos afirmar que o meio ambiente do trabalho tutelado pela CF/88 de
forma imediata, sendo inclusive de modo expresso, conforme disposto no artigo 200,
VII, que trata da tutela da sade (art. 196 da CF), e ainda em vrios outros
dispositivos, como por exemplo, no artigo 7,XXXIII:
Art. 200: Ao sistema nico de sade compete, alm de outras
atribuies, nos termos da lei [...]
VIII - colaborar com a proteo do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
Observa-se ainda que o meio ambiente do trabalho tutelado de forma
mediata, concentrando-se no caput do artigo 225 da CF/88, porm, vale ressaltar
que a proteo do meio ambiente do trabalho coisa diversa da proteo do direito
do trabalho.
Explicita Fiorillo e Rodrigues (1997, p. 65), em relao ao nico trabalho que
deve ser valorizado, no caso, o do homem, aduzem que:
Trazendo a questo para o direito constitucional positivado, apenas o
trabalho humano que deve ser valorizado, como direito social
fundamentador da ordem econmica e financeira (base do
capitalismo) e fundamento da Repblica Federativa do Brasil,
28
conforme consta no art. 1 da CF. Mas o trabalho tutelado na CF,
alm de ser o trabalho humano, ter que estar individualmente ligado
a um aspecto econmico, na medida em que ele, trabalho, passvel
de valorao social. Poderamos at dizer que, em verdade, no o
trabalho, de per si, que tutelado, mas sim os efeitos jurgenos
decorrentes da situao de se trabalhar, no sentido mpar, de que ele
estaria ligado a uma necessidade de valorao social (qual seja,
proteo da sade, segurana, lazer, etc.).
Conclui-se que o fato do Texto Constitucional adquirir inmeras variveis,
embora diferentes, esto ligadas entre si e so complementares em relao aos
objetivos e fundamentos da Repblica, em que visam assegurar a todos uma
existncia dentro de um sistema onde possa ser observada a justia social
coexistindo com dignidade.
Finalizamos ao considerar que o direito a uma situao de trabalho (direito
ao trabalho - art. 6 - direito social) possui seu objeto jurdico tutelado de forma
diferente do objeto jurdico tutelado do meio ambiente do trabalho, pois este tem seu
objeto jurdico como sendo a sade e segurana do trabalhador, que, enquanto
integrante da sociedade e titular do direito ao meio ambiente, possui direito sadia
qualidade de vida, e com isso, procura salvaguardar o indivduo enquanto ser vivo
das formas de degradao e poluio do meio ambiente onde labora, o que
representa quesito essencial para sua qualidade de vida.
2.1.4 Meio ambiente natural ou fsico
Constitui o meio ambiente natural ou fsico, o solo, a gua, o ar atmosfrico,
a flora e a fauna, ou ainda, podemos defini-lo pelo fenmeno de homeostase, ou
seja, so todos os elementos responsveis pelo equilbrio dinmico entre os seres
vivos e o meio em vivem, que por esta razo tambm se inserem como fundamental
para o desenvolvimento da atividade do Ecoturismo, tendo em vista que so fortes
atrativos para realizao de tal atividade, motivo pelo qual vo ao encontro da
necessidade de proteo do meio ambiente, coadunado no despertar para uma
conscientizao ecolgica.
29
Podemos afirmar que o meio ambiente natural mediatamente tutelado
pelo artigo 225, caput, da CF/88 e imediatamente, v.g. pelo artigo 225, 1, I e VII,
quando diz:
Ar. 225 [...]
1 Para assegurar a efetividade deste direito incumbe ao Poder
Pblico:
I - preservar e restaurar os processos ecolgicos essenciais e prover
o manejo ecolgico das espcies e ecossistemas;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as prticas
que coloquem em risco sua funo ecolgica, provoquem, a extino
de espcies ou submetam animais crueldade.
2.2 NATUREZA JURDICA DO BEM AMBIENTAL
Em relao natureza jurdica do bem ambiental, devemos observar que ao
determinarmos o mesmo como um direito expressamente consagrado em nosso
ordenamento jurdico na CF/88 em seu artigo 225, consideramos o fato de estar o
mesmo enraizado em valores prprios, que, no obstante, encontraremos tais
valores na prpria Constituio Federal e, assim, ao descobrirmos a natureza do
bem ambiental, estaremos descobrindo a prpria amplitude da conceituao de meio
ambiente.
Em nosso artigo 225 da CF/88 temos que o meio ambiente ecologicamente
equilibrado bem de uso comum do povo e essencial qualidade de vida, e por
considerar como essencial qualidade de vida, o referido artigo recepciona o
conceito de meio ambiente devidamente estabelecida na Lei n 6.938/91 quando a
mesma define em seu artigo 3, I, como o conjunto de condies, leis, influncias e
interaes de ordem fsica, qumica e biolgica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas, estabelecendo assim uma correta ligao entre tutela do
meio ambiente e a defesa da pessoa humana.
Podemos afirmar que a expresso sadia qualidade de vida remete-nos a
idia de direito a vida e vida com sade, sem prejuzo da garantia dos demais
direitos inerentes ao denominado piso vital mnimo que vem insculpido no artigo 6
da CF/88, considerando-se a tutela imediata do meio ambiente em que se busca
algo mais que apenas um meio ambiente para simples sobrevivncia, tendo em vista
30
que estabelecido um parmetro entre o direito a vida e desta com sade e
qualidade.
Conforme descreve Fiorillo e Rodrigues (1997, p. 88):
A diviso do meio ambiente em cultural, artificial, do trabalho e
natural, no possui outra funo seno a de delimitar o espectro do
meio ambiente a que est se referindo. Todavia, deve ficar claro que
tal dissociao meramente expletiva, vez que o conceito de meio
ambiente, por tudo visto, indissocia-se da inexorvel lio de direito
vida.
Dizemos ento que o meio ambiente configura-se pelas relaes e
alteraes observadas entre todos os seres vivos, incluindo-se neste contexto o
prprio homem, e destes com o seu meio, motivo pelo qual conclumos que o direito
do ambiente seja deste modo, um direito interativo com tendncia a incidir em todos
os flancos do direito para assim introduzir a idia de ambiente.
Com estas consideraes em relao ao meio ambiente, podemos agora
definir a conceituao sobre a natureza jurdica do meio ambiente, onde
principalmente a partir da segunda metade do sculo XX com o surgimento dos
fenmenos de massa, em razo ao movimento social que d origem a chamada
sociedade de massa, os bens de natureza difusa passam a ser objeto de uma maior
preocupao do cientista, legislador e aplicador do direito, conforme conclui Fiorillo e
Rodrigues (1997, p. 89) ao afirmarem que:
Emergiram os denominados bens de natureza difusa, de modo
inversamente proporcional quebra da dicotomia pblico/privado, na
medida em que, acentuou Mauro Capelletti, entre o pblico e o
privado criou-se um abismo preenchido pelos direitos metaindividuais.
Ainda podemos afirmar, em concordncia com Capelletti (1977, p.131), que:
[...] as situaes de vida que o Direito deve regular, so tornadas
sempre mais complexas, enquanto que por sua vez, a tutela
jurisdicional - a Justia - ser invocada no mais somente contra
violaes de carter individual, mas sempre mais freqente contra
violaes de carter essencialmente coletivo, enquanto envolvem
grupos, classes e coletividades. Trata-se, em outras palavras, de
violao de massa.
31
Vale dizer que a titularidade do bem difuso difere da titularidade do bem
pblico, pois so inconfundveis, uma vez que o bem de natureza difusa pertence a
toda coletividade cuja tutela de responsabilidade tanto do Poder Pblico quanto da
coletividade, e o bem de natureza pblico tem como titular o Estado.
Com relao proteo a estes conjuntos de bens de carter difuso, no
podemos mais valer-nos da tutela simplesmente individualista liberal, tendo vista a
natureza dos bens jurdicos, inerentes coletividade, em que devemos utilizar um
sistema processual coletivo que nos permita tutelar um direito coletivo latu sensu,
conforme observa Fiorillo e Rodrigues quando afirmam que:
[...] face da existncia de trs diferentes categorias de bens no nosso
ordenamento jurdico: pblico, privado e difuso, j no mais
possvel usar do aparato de processo individual-liberal para tutelar os
bens difusos, principalmente, pelo fato de que j existe no nosso
ordenamento processual civil uma regra determinante que obriga a
utilizao de um sistema processual coletivo, quando se tratar de um
direito coletivo latu sensu.
Com a evoluo industrial e o desenvolvimento econmico em larga escala,
surge na sociedade moderna problemas que acarretaram vrios prejuzos de ordem
coletiva, sendo at ento desconhecidos na sociedade quando analisados sob um
prisma meramente individual, como bem observado por Capelletti, 1977, p. 131) ao
afirmar que:
Na realidade, a complexidade da sociedade moderna, com intrincado
desenvolvimento das relaes econmicas, d lugar a situaes das
quais determinadas atividades podem trazer prejuzos aos interesses
de um grande nmero de pessoas, trazendo problemas desconhecidos
s lides meramente individuais.
Consideramos assim que o Direito no se apresenta mais com conotao
individual, mas de cunho individual, meta-individual e coletivo, podemos destacar
que:
Os direitos e os deveres no se apresentam mais, como nos Cdigos
tradicionais, de inspirao individualista liberal, como direitos e
deveres essencialmente individuais, mas meta-individuais e coletivos
(CAPELLETTI, 1977, p. 131).
32
O bem jurdico meio ambiente deve ser considerado como um todo, mesmo
que formado por vrios bens jurdicos. Por esta razo, o bem ambiental encontra
tutela tanto por instrumentos de Direito pblico, quanto por instrumentos de Direito
privado e que, se for encarado de forma a considerar um conglomerado de bens
individualizados entre si, perde sua identidade na ordem jurdica.
Podemos assim considerar o bem ambiental, enquanto analisado sob sua
natureza jurdica, tratar-se de um bem difuso lato sensu, por ser um bem de
interesse transindividual e meta-individual de titularidade de toda a coletividade,
como bem define Piva (2000, p. 114): trata-se de um bem difuso, um bem protegido por
um direito que visa assegurar um interesse transindividual, de natureza indivisvel, de que
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstncia de fato.
Assim, em nosso ordenamento jurdico a tutela jurdica do bem ambiental
teve como primeiro instrumento a Lei 4.734/65, que a Lei da Ao Popular, apesar
de que naquele momento evolutivo da chancela jurdica dos bens de natureza
difusa, ainda se dava de forma pouco clara, em razo de que no havia ainda uma
noo clara e definio legal sobre os direitos difusos e coletivos, como tambm,
ainda no se percebia uma aceitao efetiva dos mesmos.
Contudo, o referido instrumento, perfez um importe marco normativo para o
deslinde do entendimento atual sobre os direitos difusos e coletivos e sobre o
surgimento dos denominados bens ambientais.
Nesta linha, mais importante ainda se fez no campo jurdico para
institucionalizar o denominado bem ambiental, cuja natureza jurdica difusa lato
sensu, a edio da Lei 6.938/81, que trata da Poltica Nacional do Meio Ambiente,
instrumento normativo de ordem material, que serviu, como de fato ainda serve, para
evidenciar que o meio ambiente necessita de diretrizes protetivas especficas, tendo
em vista sua esgotabilidade e importncia para todos os seres do globo.
Por fim, destacamos a edio da Lei 7.347/85, que a Lei da Ao Civil
Pblica, que apesar de tambm ser uma legislao procedimental, trouxe, enquanto
projeto de lei, em seu artigo 1, inciso IV, a possibilidade da sua utilizao para
tutelar direitos ou interesses difusos e coletivos, em que, num primeiro plano, ou
seja, no momento de sua edio, recebeu o veto presidencial pela justificativa de
33
que no existia positivado em nosso ordenamento jurdico a definio daquilo que
caracteriza e define os direitos difusos e coletivos.
Contudo, com a instituio da Constituio Federal de 1988, e, logo aps,
com o advento da Lei 8.078/90, a Lei que introduz o Cdigo de Defesa do
Consumidor, trouxe em seu artigo 81, pargrafo nico, incisos I, II e III a definio
dos direitos difusos stricto sensu, coletivos stricto sensu e individuais homogneos,
dando assim escopo aos direitos difusos e coletivos, possibilitando com isto a
recepo, por determinao da prpria Lei em comento, do dispositivo outrora
rechaado de nossa ordem legal em razo da Lei da Ao Civil Pblica.
Portanto, podemos concluir que nosso ordenamento jurdico atualmente
comporta trs categorias de bens, sendo o pblico, o privado e o difuso, inserindo-se
o bem ambiental no contexto deste ltimo pelo fato de ser um bem que pertence a
toda a coletividade, considerado bem de uso comum de todos e essencial a sadia
qualidade de vida, e, devido a sua importncia, e por ser fator preponderante para o
desenvolvimento da atividade do Ecoturismo, que percebemos a necessidade de
se preservar os bens ambientais enquanto objeto do direito ambiental, visando
assim, atingir o objetivo proposto de desenvolvimento sustentvel.
3 FAUNA
Conforme descrito pelos doutrinadores ptrios, o estudo da fauna redunda
um tanto complexo, haja vista que possuem uma atvica concepo privatstica,
influenciada, principalmente, pelo pensamento civilista do comeo do sculo XX, que
por tal prisma, considerava a fauna como objeto que poderia ser passivo de
apropriao, sendo considerada como res nullius ou res derelictae. (FIORILLO,
2005, p. 86).
Entretanto, como a evoluo em nosso ordenamento jurdico, esta
concepo ultrapassada foi revista e modificada, uma vez que inegvel a
importncia da fauna ao equilbrio ecolgico, sendo imprescindvel para a
sobrevivncia de todo o conjunto de espcies, incluindo-se dentre elas o prprio
homem.
Deste modo, decai a concepo de que a fauna seria considerada res nullius
ou res derelictae, passando a integrar o conceito de res communes omnium, haja
vista que a mesma possui natureza difusa por ser um bem ambiental, detendo
atravs de sua funo ecolgica o papel de resguardar as espcies de forma a velar
pelo equilbrio dos ecossistemas, sendo esta funo indispensvel sadia qualidade
de vida.
Neste captulo abordaremos os aspectos gerais sobre a fauna, considerando
sua importncia para o meio ambiente enquanto possuidora de imprescindvel
funo ecolgica, a qual tambm ser abordada. E, como no poderamos deixar de
comentar, remeteremos nosso interesse sobre a fauna para suas finalidades que,
dentre as existentes, destacaremos aquelas que guardam estrita relao com
atividade do Ecoturismo, principalmente porque tal atividade pode coibir uma prtica
das mais perversas e que ser objeto de comento, tratando-se do trfico de animais
35
silvestres, ressaltando, porm, que deixaremos de abordar a questo da caa por
considerarmos ser de pouca relevncia ao tema proposto.
3.1 ASPECTOS GERAIS
Inicialmente destacamos que o legislador constitucional ao elencar a
proteo fauna, em seu artigo 225, 1, inciso VII, o fez em sentido lato, no
conceituando o que seria fauna, ficando esta tarefa com o legislador
infraconstitucional, fato que possibilitou a recepo da Lei 5.197/67 que a Lei de
Proteo Fauna.
A referida Lei em seu artigo 1 restringiu o contedo da fauna, reportando-se
apenas fauna silvestre ao dispor que
os animais de quaisquer espcies em qualquer fase de seu
desenvolvimento que vivem naturalmente fora do cativeiro,
constituindo da fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e
criadouros naturais so propriedades do Estado, sendo proibida sua
utilizao, perseguio, destruio, caa ou apanha.
Vale ainda mencionar o disposto no artigo 29, 3 da Lei 9.605/98, que
complementa a idia de fauna silvestre, a qual prescreve que
so espcimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes s
espcies nativas, migratrias e quaisquer outras, aquticas ou
terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo
dentro dos limites do territrio brasileiro, ou em guas jurisdicionais
brasileiras.
Entretanto, a concepo ideolgica de que se teria repudiado a proteo da
fauna como um todo, merecendo garantia protetiva somente a fauna silvestre, no
deve prosperar, levando-se em conta que tal possibilidade reverteria contra o
preceito constitucional, que determina a proteo fauna sem quaisquer restries,
inserindo-se a, tambm, a fauna domstica.
Ademais, o que se levou em considerao na Lei de Proteo a Fauna, foi o
fato de que a fauna silvestre possui funo ecolgica para o meio ambiente e,
tambm a necessidade de se preservar estes animais do risco de extino em razo
36
da ao predatria do ser humano, fato que colocaria em risco o equilbrio ecolgico,
o que no quer dizer que os animais domsticos possam sofrer com a prtica de
crueldade.
Assim, podemos evidenciar o conceito da fauna como sendo o conjunto de
animais pertencentes a uma dada localidade ou regio, sendo definidos como
silvestres os que vivem naturalmente em liberdade ou fora do cativeiro, conforme
preceitua o artigo 1 da lei 5.197/67, e como domstico os animais que no vivem
em liberdade, sofrendo alterao de seu habitat, convivendo, via de regra, em
harmonia com o ser humano e deste depende para sua subsistncia.
Em nossa abordagem diante do tema proposto, vale apenas destacar que
considerado como caracterstico dos animais domsticos a ausncia de funo
ecolgica e de risco de extino, trazendo sua existncia em benefcio do homem,
simplesmente uma relao de bem-estar ao mesmo na seara psquica.
Sobretudo, vislumbramos em relao natureza jurdica da fauna, a viso
antropocntrica, em que os animais da fauna no so sujeitos de direitos, o que no
significa que no merea total proteo, tendo em vista que o elemento protetivo do
meio ambiente visa favorecer a humanidade, incidindo assim, por via reflexa, na
proteo das demais espcies pertencentes ao conjunto ambiental.
A fauna como bem ambiental possui caracterstica natureza difusa, o que foi
modificado com a evoluo do direito positivo, principalmente ao observarmos nosso
ordenamento jurdico ptrio, em que, pelos revogados Cdigo de Caa (Decreto-Lei
n 5.894/43) e Cdigo de Pesca (Decreto-Lei n 794/38), as espcies que
compunham a fauna eram tidas como res nullius, e com o advento da Lei n
5.197/67, que revogou os diplomas anteriores, a fauna passou a pertencer
categoria de bem pblico, por refletir a preocupao do legislador com a
possibilidade de se esgotar o bem descrito, levando-se em considerao a
importncia no equilbrio ecolgico.
Com o advento da atual Constituio Federal, aliado ao diploma do Cdigo
de Defesa do Consumidor, mudou-se a concepo de que a fauna pertencia
categoria de bens pblicos, sendo assim considerado bens de natureza difusa, por
serem bens ambientais e possurem funo ecolgica.
37
3.2 FUNO ECOLGICA
A referida funo vem disposta em nossa Carta Magna, necessariamente no
artigo 225, 1, inciso VII, quando veda as atividades contra fauna e flora que
coloquem em risco a sua funo ecolgica e, ao relacionar-se diretamente com a
manuteno do equilbrio ecolgico mencionado no caput do artigo descrito,
importando na garantia da sadia qualidade de vida.
Deste modo, podemos considerar que a funo ecolgica exercida no
momento em que a fauna age na manuteno e equilbrio do ecossistema a que
pertence, tendo como resultado, um ambiente sadio e indispensvel sadia
qualidade de vida, sendo que esta funo fator determinante para que a fauna se
caracterize como bem ambiental de natureza difusa.
Tal assertiva nos leva a considerar que, ao ser observado que a fauna
domstica caracterizada por no possuir funo ecolgica, por certo, tambm no
possuem natureza difusa, e, portanto, ainda que merea ser protegida contra
prticas de crueldade, so passiveis de apropriao, e sendo assim, possuem
natureza privatstica.
3.3 MULTIFINALIDADE DA FAUNA
A fauna possui vrias finalidades voltadas para o ser humano e para o meio
ambiente, sendo determinadas ao considerarmos o benefcio que sua utilizao
reverter em prol do ser humano, tendo como principais finalidades, a cientfica,
recreativa, econmica, cultural e ecolgica, sendo que esta ltima j est
evidenciada neste trabalho pelo que j foi abordado, e, dentre todas, as que mais
despertam nosso interesse a recreativa, econmica e cultural.
Entretanto, e para fins elucidativos, merece ser mencionado o conceito de
finalidade cientfica, em que podemos evidenciar que a fauna pode ser utilizada para
fins de experimentos, testes em laboratrios, dentre outros fins de cunho cientfico,
desde que seja resguardada e preservada a sua destinao cientfica ou tecnolgica
de forma bem definida e em benefcio da prpria humanidade.
38
Outra finalidade que merece ser destacada refere-se a cultural, que para o
Ecoturismo de suma importncia, pois a fauna deve ser utilizada com vistas
preservao, deve ser observado tambm o exerccio dos prembulos culturais
enraizados nas diversas vertentes da sociedade brasileira, visando, contudo, atingir
a finalidade precpua da proteo ambiental.
A principal polmica sobre a funo cultural est relacionada a prticas
denominadas cruis, como a farra do boi em terras sulistas, onde, sob a viso
antropocntrica, estaria ligada diretamente sade psquica do prprio homem, no
sendo considerado o aspecto do bem-estar do animal, o que reflete assunto muito
polmico, pois que devemos sopesar vrios valores de suma importncia que levam
em considerao muitos aspectos peculiares que possuem variabilidade mltiplas e
que no merecem maior aprofundamento.
Entretanto, para a atividade do Ecoturismo, que alia preservao e
conservao do meio ambiente com explorao de atividade econmica com vistas
ao desenvolvimento econmico como ser abordada mais adiante, a prtica de
atividade que resulte em agresso ao meio ambiente, resulta na fuga de suas
primcias, e, portanto, merecem ser rechaadas.
Por fim, abordaremos a finalidade recreativa que somada a finalidade
ecolgica redunda como a principal finalidade para o desenvolvimento da atividade
do Ecoturismo, sendo definida como o direito ao lazer com o desfrute de uma sadia
qualidade de vida.
O que se assevera que muitas vezes o direito ao lazer poder chocar-se
com o dever de se preservar o meio ambiente, e neste caso em especfico, ao tratar-
se da fauna, deve ser levado em considerao manuteno da funo ecolgica.
Frente a esta situao conflitante, em que se pode evidenciar que ambos os
direitos possuem uma mesma origem, ou seja, natureza difusa, ao versar sobre
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e para o alcance de uma sadia
qualidade de vida, devemos analisar a situao com vistas ao princpio do
desenvolvimento sustentvel, de forma que certas atividades de cunho recreativo
possam ser realizadas de forma compatvel conservao do meio ambiente, e
neste sentido temos que:
39
[...] o que vai determinar a soluo do conflito a casustica, em que
devero ser sopesadas a relao custo-benefcio da agresso
fauna (com implicaes na funo ecolgica) e a relao entre a
necessidade daquela prtica de lazer e a formao do bem-estar
psquico. Realizada essa operao, ser ento possvel determinar
se se trata da prevalncia de um exerccio do direito ambiental
vinculado ao laser ou preservao da funo ecolgica da fauna
(FIORILLO, 2005, p. 92).
Vale ser ressaltado que a atividade de recreao em que se perceba a
presena da fauna silvestre, imprescinde de prvia autorizao do Poder Pblico e
no de licena ambiental conforme determina a Lei de Proteo Fauna, devendo
ser observado ainda que, mesmo se tratando de propriedade particular o local onde
se desenvolva a atividade dever ser requerido mencionada autorizao, pois a
fauna silvestre possui natureza de bem ambiental e, deste modo, um bem difuso,
no podendo ser utilizado de forma particular e ao livre alvitre pelo proprietrio do
local em que se situe o espao da atividade.
3.4 TRFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL
O Trfico de animais silvestres configura uma das maiores agresses ao
meio ambiente como um todo, ou seja, sob o bice interno e internacional, j que a
prtica de tal ilcito realizada no mundo inteiro, deixando um rastro de morte e
destruio, e ainda, deflagrando a situao vexatria das mazelas sociais onde esta
prtica representativamente maior, como o caso dos pases de terceiro mundo.
A prtica do trfico de animais silvestres reveste-se de grande rentabilidade
em razo da quase certeza de impunidade. Por isso, em um ano torna-se possvel
movimentar bilhes de dlares com o desenvolvimento da atividade ilegal, que
representa uma grande degradao ambiental, responsvel pelo risco de extino
para muitas espcies.
Nos tpicos a seguir sero abordadas questes de suma importncia para
delinear a situao do trfico de animais silvestres no Brasil e no mundo e que
servir para demonstrar que atividades como a realizao do Ecoturismo, que aliam
interesse econmico, desenvolvimento social e preservao do meio ambiente,
40
representam instrumentos necessrios e eficazes para se alcanar o
desenvolvimento sustentvel.
3.4.1 No mundo
O trfico de animais silvestres representa o terceiro maior negcio ilcito no
mundo, sendo apenas superado pelo trfico de drogas e de armas, movimentando
com a prtica ilcita, em torno de U$ 15 bilhes de dlares por ano e comercializado
cerca de 120 milhes de animais todos os anos.
Podemos observar o agravamento do caso, pelo fato de que atualmente os
traficantes de drogas descobriram que o comrcio de animais muito mais vivel do
que o comrcio de drogas, cuja razo deve-se a maior rentabilidade com a venda de
animais e a quase impunidade da prtica.
A situao to polmica e sria que a Polcia Federal em conjunto com a
Interpol j se mobilizou no sentido de criar equipes especializadas para o combate
acirrado contra a prtica de tal ilcito, em que, a ttulo de exemplo, uma espcie que
est em extino, como a ararinha-azul, no comrcio ilegal equivale a 24 quilos de
cocana.
O fato que a prtica deste comrcio ilcito possui ramificaes em todo o
mundo, e, como ser observado, no Brasil ainda mais preocupante, haja vista que
uma boa fatia do mercado global abastecida por nossos espcimes nativos.
3.4.2 No Brasil
Como j mencionado, o trfico de animais silvestres representa a terceira
maior atividade ilcita do mundo, e, como no poderia deixar de ser, no Brasil tal
atividade configura a mesma proporo, sendo que o Brasil responsvel por 15%
do mercado mundial, movimentando cerca de U$ 1,5 bilho de dlares ao ano em
mdia.
41
A necessidade de medidas que possam evitar que tal prtica ocorra sem que
nada seja feito de efetivo, envolve toda a sociedade brasileira num contexto global,
j que os danos fauna brasileira, pertencente a todos os cidados brasileiros,
referem-se a interesses difusos, merece toda a ateno, tanto do Poder Pbico
quanto de toda a coletividade.
A ateno mais efetiva de polticas pblicas se faz necessrio, sendo que
esta mobilizao foi bem observada pela ONG SOS FAUNA dizendo que:
importante que ocorra um processo de integrao, de articulao
poltica, culminando numa ao harmnica entre os rgos
governamentais (tanto a nvel federal, como estadual e municipal),
ns das Organizaes No Governamentais, operadores do Direito,
que fazem valer os instrumentos normativos e, por fim, a sociedade,
participando ativamente para reverter este triste quadro que s tem
crescido
2
.
fato que o Brasil possui maior e mais rica biodiversidade do planeta, mas,
ao que tudo indica, no h uma preocupao muito latente com o comrcio ilegal de
animais silvestres, considerando que muitas das crticas feitas ao nosso conjunto
normativo especfico sobre a matria so profundamente consistentes e verdadeiras,
pois, como evidencia matria veiculada pela revista poca de 21 de julho de 2003,
em relao ao Brasil
a pena para o comrcio de substncias ilcitas varia de trs a 15
anos de priso. No caso dos animais, a punio mxima de um ano
de deteno. A maioria das ocorrncias, porm, resolvida com
multas que no chegam a R$ 1.000,00 ou a simples prestao de
servios comunidade. O Cdigo Penal punitivo. J a legislao
sobre os crimes ambientais foi criada para educar
3
.
Entretanto, merece destaque a estimativa de que apenas 30% dos animais
comercializados deixam o Brasil e os outros 70% so comercializados dentro do
prprio territrio brasileiro, sendo que o principal fluxo concentra-se na regio
Sudeste, principalmente no eixo Rio-So Paulo, advindo principalmente da Regio
Nordeste, seguido do fluxo advindo da regio Centro-Oeste, passando pelo Estado
de Minas Gerais. Em terceiro lugar est o fluxo advindo da regio Norte, sendo que
todos tm como certo o destino da regio Sudeste.
2
http://www.sosfauna.org/a_realidade_dolorosa_e_vergonhos.htm, capturado em 15/07/2003 .
3
Revista poca. A arara e a cacana. So Paulo: Globo, n 270, de 21 de julho de 2003.
42
A maior parte do trfico da fauna silvestre brasileira contrabandeada para
pases vizinhos, sendo o transporte realizado atravs dos meios fluviais ou pelas
denominadas fronteiras secas, e, aps, seguem para os pases de primeiro mundo,
onde viram animais de estimao ou cobaias para experimentos em biotecnologia.
O fato mais marcante, alm do expressivo montante de espcimes da fauna
que correm o risco de extino pela atividade ilcita do trfico de animais, redunda
nos meios em que se d a captura e o transporte destes animais, cuja brutalidade e
crueldade a que so submetidos, fazem com que nove entre dez animais
capturados, sejam mortos antes de chegar ao seu destino.
A cadeia estrutural que envolve o trfico de animais complexa e ao
analisarmos suas razes, observaremos que a prtica favorecida, e muito, pela
questo social, onde, as populaes locais, muitas vezes vivendo em situaes de
precariedade, trocam exemplares capturados por produtos bsicos de subsistncia,
surgindo a os primeiros intermedirios do trfico, com pouca expresso comercial,
sendo estes:
[...] os mascates, regates (barqueiros que transitam pelos rios das
regies Norte e Centro-Oeste realizando escambo de produtos
bsicos por animais silvestres), donos de barraces (pequenos
comerciantes rurais), fazendeiros, caminhoneiros, os motoristas dos
nibus (estaduais/interestaduais) e comerciantes ambulantes que
transitam entre a zona rural e os mdios e grandes centros urbanos.
4
Aps os chamados primeiros intermedirios, aparecem os denominados
intermedirios secundrios, que se caracterizam como pequenos e mdios
comerciantes que atuam no comrcio varejista, sendo estes a ligao entre o
intermedirio e o os grandes comerciantes que atuam no mercado atacadista com
destino ao mercado internacional, os quais so:
[...] os responsveis pelo contrabando nacional e internacional de
grande porte (esto includos os traficantes brasileiros e estrangeiros
especializados neste comercio, alguns proprietrios de criadouros
cientficos, comerciais ou mesmo, conservacionistas, e ainda,
empresrios legalmente constitudos, com conexes no mercado
internacional de animais silvestres).
5
4
http://www.sosfauna.org/a_realidade_dolorosa_e_vergonhos.htm- capturado em 15/07/2003.
5
Idem.
43
No pice desta cadeia comercial, encontram-se os consumidores finais,
sendo estes: os criadores domsticos, os grande criadores particulares, os
zoolgicos, os proprietrios de curtumes, indstrias de bolsas, calados, artigos de
pele, indstria de cosmticos e farmacolgica, dentre muitos outros.
6
As formas mais conhecidas de se comerciar internamente os produtos
advindos do trfico da fauna brasileira, so atravs das de sacoleiros, avicultores,
em lojas de Pet Shops, em feiras, em depsitos nas residncias dos comerciantes
ou fora delas, ou, em residncias de particulares.
Por fim, podemos concluir que a principal causa do trfico de animais
silvestres e da degradao ambiental a situao scio-econmico-cultural da
populao brasileira, sendo isto observado pela ONG Sos Fauna:
A situao scio-cultural-econmica precria da populao brasileira
a principal inimiga do meio ambiente e conseqentemente do
trafico de animais silvestres, j que o quadro de pobreza social e a
falta de alternativas econmicas contribuem para aumentar cada vez
mais o numero de animais retirados da natureza, por isso,
necessitamos urgentemente que sejam adotadas polticas pblicas
voltadas para a educao ambiental e desenvolvimento sustentvel,
utilizando e conservando de modo racional os recursos naturais,
como prioridade.
7
6
Idem.
7
Idem.
4 FLORA
4.1 ASPECTOS GERAIS
Como j mencionado, a atividade do Ecoturismo se desenvolve levando em
considerao os recursos ambientais, tendo em vista que a mesma realizada com
a utilizao de tais recursos de forma sustentvel para a utilizao do turismo
ecolgico.
Deste modo, podemos destacar que a flora brasileira, por representar um
rico patrimnio ambiental pela sua biodiversidade, no poderia ficar sem ser utilizada
como instrumento de viabilizador da atividade ecoturstica, simplesmente por
representar um atrativo substancial, tendo em vista o mosaico florstico que
possumos em nosso territrio de propores continentais, dentre as quais podemos
citar a Floresta Amaznica, o Pantanal Mato-Grossense, a Mata Atlntica, a Serra do
Mar, a Caatinga, o Cerrado do Centro-Oeste, dentre muitos outros ecossistemas
existentes em nosso territrio.
Podemos dizer que flora representa o conjunto de espcimes vegetais que
compem uma dada regio ou lugar, dentro de uma delimitao territorial que pode
ser uma cidade, estado, pas, ou continente considerado com um todo ou em parte.
Neste sentido, ainda podemos destacar que a flora subsiste da interao
simbitica ininterrupta junto aos demais seres vivos, desde os espcimes
microrgnicos aos demais espcimes animais, cuja formao definimos como
ecossistema sustentado.
Sirvinskas, ao abordar a conceituao em torno do continente flora, dispe
que:
45
[...]. Eugene P. Odum, citado por rica Mendes de Carvalho, salienta
que toda comunidade de seres vivos - vegetais ou animais - interage
com o meio circundante, com o qual estabelece um intercmbio
recproco, contnuo ou no, durante determinado perodo de tempo,
de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas biticas
claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes
vivas e no-vivas. Esse conjunto de fatores, respectivamente
denominados biocenose e bitopo, do origem a um complexo que
recebe o nome de ecossistema sustentado graas s constantes
trocas de matria e energia, responsveis por seu equilbrio
(CARVALHO, 1999 apud SIRVINSKAS, 2003, p. 189).
Deste modo, destacamos que tal conceituao se reporta ao sentido de
diversidade biolgica, encampado pelo inciso III do artigo 2 da Lei n 9.985/00 que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservao (SNUC), o qual dispe que
a mesma formada pela
variedade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo,
dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros, os
ecossistemas aquticos e os complexos ecolgicos de que fazem
parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espcies, entre
espcies e de ecossistemas.
Portanto, podemos observar em primeiro plano, que o equilbrio
ecossistmico existente entre fauna e flora so dependentes entre si, necessitando
da perfeita simbiose para co-existirem no meio ambiente, motivo pelo qual, tambm
so importantes para o desenvolvimento da atividade do ecoturismo de uma forma
sustentvel, uma vez que d a tnica ao sentido de ecossistema sustentado.
Num segundo momento, podemos destacar que o contedo da flora mais
abrangente do que o das florestas ou qualquer outro tipo de vegetao, tendo em
vista que estas ltimas compem o continente da primeira.
Contudo, ressaltamos que as florestas perfazem importante conjunto
ecossistmico em nossa ordem ambiental e legal, e, por tal motivo, merece uma
abordagem mais concisa, visando com isto, evidenciar a finalidade turstica que
podemos extrair num contexto geral ante o tema proposto.
46
4.2 AS FLORESTAS EM NOSSO ORDENAMENTO JURDICO
Como j destacamos, pode-se observar que as florestas so bens
ambientais por fazerem parte do continente flora, possuindo natureza difusa, cuja
titularidade toda a coletividade, e sua utilizao pode representar certa limitao
quando situadas em espaos de propriedade privada, que, dada sua importncia em
certos casos, devem at sofrer a desapropriao.
Interessante frisar que a Carta Constitucional de 1988 aufere em seu artigo
23, inciso VI, competncia material comum Unio, Estados, Distrito Federal e
Municpios para atuarem na defesa do meio ambiente, incluindo-se neste contexto a
flora, e ainda, competncia legislativa concorrente em seu artigo 24, inciso VI, para
que os entes federativos descritos, com exceo dos Municpios, legislem sobre
proteo do meio ambiente.
O disposto no artigo acima sugere que a competncia legislativa, justamente
por referir-se, num primeiro momento, apenas s florestas, no estaria abarcando o
contedo flora, o que no reflete a realidade, uma vez que o mesmo dispositivo
como j mencionado, reluz no sentido de que a competncia se reporta tambm
proteo do meio ambiente, onde se insere o contexto global de flora.
Ademais, podemos destacar que a importncia da flora como bem ambiental
no aparato jurdico-normativo tambm regulada na esfera infra-constitucional em
razo da Lei 4.771/65 que institui o Cdigo Florestal, sendo que em maior parte foi
recepcionado por nossa Constituio Federal, com exceo do artigo 16, alnea d
uma vez que, com o advento da CF/88, a competncia federal determina apenas no
sentido de normas gerais, conforme o que estabelece o seu artigo 24, 1.
Temos ainda os instrumentos trazidos pela lei 9.985/00, que institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservao, constando em seu artigo 17, a
previso legal da existncia de espaos ambientais denominados Florestas
Nacionais, as quais, possuem como objetivo o uso mltiplo sustentvel dos recursos
florestais e pesquisa cientfica, sendo as mesmas definidas como sendo uma rea
com cobertura florestal de espcies predominantemente nativas.
47
Assim, destacamos que a previso legal, tanto no aspecto constitucional,
quanto infra-constitucional, por preverem dentre a utilizao da flora, fins para
visitao pblica, age como instrumento viabilizador da atividade do Ecoturismo,
uma vez que determina em suas prerrogativas legais, o uso sustentvel.
4.2.1 Classificao das florestas
Visando tutelar de forma eficiente as florestas em nosso ordenamento em
razo de sua multifinalidade, temos algumas classificaes que facilitam a tutela
jurdica do bem ambiental em questo, as quais, em razo do que dispe a Lei
4.771/65 que se refere ao Cdigo Florestal, classifica-se quanto: preservao;
variabilidade de espcies; ao tipo de reposio florestal; ao primitivismo; e, quanto
explorao.
Podemos definir as florestas em razo da variabilidade de espcies, em:
homogneas, que so aquelas que se apresentam com uniformidade florestal, onde
predomina uma considerada espcie vegetal; ou, heterognea, que so aquelas que
se apresentam sob grande e complexa formao de variabilidade gentica,
constituindo enorme e importante conjunto ecossistmico, representando verdadeiro
stio do de patrimnios genticos.
Destarte, quanto ao tipo de reposio florestal, as florestas classificam-se:
como nativas que so aquelas que possuem identidade em razo de certo local ou
regio, por serem originrias destes lugares; ou, exticas, que so plantas no
originrias dos lugares onde se pretende ou se introduz certas espcies, o que
merece uma ateno especial quando de sua introduo no ambiente pretendido,
devido ao fato de possibilidade de dificuldade em adaptao nestes locais, o que
pode representar alteraes danosas ao meio ambiente, motivo pelo qual se torna
obrigatrio minucioso Estudo de Impacto Ambiental.
Podem ser ainda classificadas quanto ao primitivismo, sendo primitivas ou
virgens aquelas que se apresentam intocadas, ou seja, inalteradas em sua
formao, a no ser pela ao da prpria natureza. Ou, podem ser secundrias, que
so aquelas que aps sofrerem alteraes pela ao do homem, acabam se
48
recompondo. Apresentam-se estas sob dois tipos: regeneradas, que so aquelas em
que a revitalizao ocorre em razo da formao da prpria floresta primitiva, sem
que ocorra a interveno humana, podendo assim, ser considerada floresta nativa
por recompor-se por espcimes de seu prprio habitat; e, plantadas, que so
aquelas que pautam sua regenerao sob interveno humana.
Por fim, temos a classificao quanto explorao, em que as mesmas se
apresentam, primeiramente, como inexplorveis, podendo localizar-se em reas
privadas ou pblicas, sendo estas gravadas pelo Cdigo Florestal com
impossibilidade de explorao; e, as explorveis, cuja explorao permitida dentro
de um contexto de sustentabilidade.
As florestas inexplorveis podem ser aquelas que vm previstas nos artigos
2 e 3. Trata-se das florestas permanentes, bem como as situadas em reservas
biolgicas, nos parques nacionais, estaduais ou municipais, conforme dispe o artigo
5, pargrafo nico do referido diploma. Tambm as rvores que sejam
consideradas e declaradas imunes de corte em razo de ato do Poder Pblico por
sua localizao, raridade, beleza ou condio de porta-sementes, conforme dispe o
artigo 7, e ainda, os demais espaos ambientais especialmente protegidos,
destacando-se, entretanto, que neste tipo de floresta permitido a execuo da
atividade do ecoturismo.
Num segundo momento temos as florestas explorveis, que podem ser de
rendimento permanente, que so aquelas denominadas de utilizao racional por se
desenvolverem em observncia adoo de cautelas que possibilitem o rendimento
permanente e contnuo de uma determinada vegetao sem lhe tirar as
caractersticas ecolgicas, em conformidade ao que dispe o artigo 10 do Cdigo
Florestal, ou ainda, podem ser explorveis com restries, que encontra previso no
artigo 15 e 16 do referido diploma, sendo proibido a explorao das Florestas
Primitivas da Bacia Amaznica sob a forma emprica, onde somente permitido a
utilizao com a realizao de planos tcnicos de conduo e manejo em
conformidade ao que estabelecer o Poder Pblico, cujas normas devem ser
baixadas dentro do prazo de um ano.
5 RECURSOS HDRICOS
5.1 ASPECTOS GERAIS
fato que a gua, por ser um recurso ambiental, faz-se essencial para a
manuteno da vida no globo por sua importncia para a dessedentao de homens
e animais, mas, principalmente no que tange nossa prpria existncia, sendo sua
importncia cabal para a consecuo da sadia qualidade de vida do ser humano.
Sabemos que em torno de 2/3 da superfcie do globo formada pelo
elemento gua, em que cerca de 97,72% do total encontrado na biosfera perfaz a
forma lquida, sendo 97% salgada e apenas 0,72% doce.
Levando-se em considerao a multifinalidade da gua, dentre as quais
encontramos a finalidade recreativa, podemos inserir os recursos hdricos como
elementos de suma importncia para o desenvolvimento da atividade do Ecoturismo,
seja, por exemplo, na realizao do turismo de aventura, ou ainda, no simples
turismo de contemplao.
O Brasil possui uma grande riqueza hdrica, em funo de sua formao
geolgica, e tal fator contribui muito para a realizao da atividade ecoturstica, uma
vez que possumos em nosso territrio uma grande variedade de opes nas
diversas regies do pas, que em razo das belezas de seus conjuntos hdricos,
tornam-se atrativos nicos no mundo para a visitao.
Deste modo, no contexto de nossas riquezas naturais e atrativos hdricos, os
quais formam verdadeiros santurios ecolgicos, abrigando grandiosos
ecossistemas em seu contexto, destacamos a floresta amaznica, o pantanal mato-
grossense, o imenso litoral brasileiro, dentre muitos outros parasos encontrados no
50
Brasil. Tais conjuntos ambientais tornam nosso pas afamado por suas riquezas
naturais, evidenciadas, em muito, pelo destaque dos recursos hdricos.
5.2 CLASSIFICAO
Para melhor delinearmos o entendimento em torno dos recursos hdricos, o
que possibilita, inclusive, a proteo e a explorao da gua, devido a sua grande e
destacada importncia, como j devidamente salientado, faz-se necessrio
apresentarmos a classificao das guas, as quais podem ser classificadas: quanto
a sua localizao em relao ao solo; e, quanto ao uso predominante.
Quanto primeira classificao, ou seja, quanto sua localizao em relao
ao solo, as mesmas podem ser subterrneas, que so aquelas localizadas a certa
profundidade em razo do subsolo, ou, superficiais, que so aquelas que se
encontram mostra na superfcie, sendo que esta se subdivide em internas, as
quais so formadas pelos rios, lagos e mares interiores, ou, externas, que so
aquelas formadas pelo mar territorial, alto-mar e guas contguas.
Em razo da segunda classificao das guas, podemos evidenciar que a
mesma ocorre em decorrncia do que exps a Resoluo CONAMA n 20/86, as
quais podem ser salinas, que so as guas com salinidade ocenica, salobra, que
so as guas que possuem salinidade inferior ocenica, e doce, que so as guas
desprovidas de salinidade.
Neste sentido, destacamos que todo o ecossistema hdrico existente no
globo, possibilita que se realize a atividade do Ecoturismo, tendo em vista que
formam, em sua maioria, um conjunto ambiental de grande beleza, o que torna muito
atrativo para a explorao ecoturstica.
5.2.1 Os recursos hdricos em nosso ordenamento jurdico
Considerando a importncia dos recursos hdricos, pelo fato da
essencialidade da gua para a consecuo da sadia qualidade de vida, destacamos
51
que a competncia legislativa em nosso ordenamento jurdico, dispe-se com base
no artigo 24, IV da CF/88, a qual compete privativamente a Unio iniciativa para
legislar sobre normas gerais sobre as guas, e, com base na anlise do artigo 30, II
do diploma constitucional, cabe aos Estados e ao Distrito Federal legislar
complementarmente, bem como, aos Municpios, legislar de forma suplementar.
Destarte, a competncia material envolvendo a proteo dos recursos
hdricos, encontra supedneo no artigo 23, VI da Constituio Federal de 1988, onde
delegada aos entes federados, competncia comum para proteger o meio
ambiente e combater a degradao ambiental, respeitando-se o que dispe o artigo
20, III ou artigo 26, I da Carta Constitucional, em que se verifica se o bem a ser
tutelado de gerncia da Unio ou do Estado.
No aspecto infraconstitucional, dentre as leis que regulamentam a proteo
ao meio ambiente, destacamos a Lei n 9.433/97 que institui a Poltica Nacional dos
Recursos Hdricos, a qual regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituio
Federal, vindo a criar o Sistema Nacional de Recursos Hdricos.
Neste sentido, com base no artigo 1, IV da Lei n 9.433/97, encontramos
dentre os fundamentos da Poltica Nacional dos Recursos Hdricos, a utilizao da
gua em razo de seu uso mltiplo, dentre os quais, insere-se os de finalidade
recreativa e contemplativa, objetivos estes, que se encontram no contexto do
Ecoturismo.
Todavia, observamos que a gua, enquanto bem ambiental, deve ser
tutelado e protegido quanto poluio e neste sentido, sem prejuzo da Lei da
Poltica Nacional do Meio Ambiente (n 6938/81), que traz a definio de poluio
em seu artigo 3, inciso III, o Decreto 70.030/73, traz a definio de poluio da gua
como sendo qualquer alterao qumica, fsica ou biolgica que possa importar
prejuzo sade, segurana e ao bem-estar das populaes, causar dano flora e
fauna, ou comprometer o seu uso para finalidades sociais e econmicas, estando,
contudo, ambos os diplomas em consonncia.
Por fim, vale ser ressaltado os equvocos existentes em nosso ordenamento
jurdico em alguns diplomas que remetem a gua a um contexto de bem pblico ou
52
bem de domnio pblico, ainda que o aprofundamento da questo no seja o objeto
da discusso proposta, no representa prejuzo em razo do tema.
Neste sentido podemos observar em razo dos artigos 99, I, e 100 do
Cdigo Civil vigente, ao remeter-nos a idia de que os recursos hdricos so bens
pblicos, ou ainda, em razo do artigo 1, I da Lei n 9.433/97, seriam estes bens de
domnio pblico, revela-nos uma impropriedade, uma vez que tais dispositivos
afrontam a Constituio Federal, tendo em vista que, sendo a gua um bem
essencial a sadia qualidade de vida, constitui um bem ambiental por fora do
dispositivo constitucional do artigo 225, possuindo, portanto, natureza difusa.
Em verdade, por ser a gua um bem de natureza difusa, a mesma pertence
a todos, sendo sua tutela incumbncia da coletividade, bem como, do Poder Pblico.
Tal incumbncia em face da relevncia da gua para a consecuo da sadia
qualidade de vida e dignidade da pessoa humana, em alguns casos impe uma
atuao mais efetiva do ente pblico, que dever agir como guardi deste direito
fundamental, motivo pelo qual aparece em alguns dispositivos, como sendo a gua
um bem pblico ou de domnio pblico. Contudo a exata inteno encontrada em
tais dispositivos submeter gerncia do Poder Pblico, determinados bens
ambientais caractersticos por sua complexidade, fragilidade e essencialidade a
todos ns, como o caso da gua.
6 DANO AMBIENTAL
A atividade do Ecoturismo, assim como outra atividade qualquer, pode
resultar em danos ao meio ambiente, caso o mesmo no se desenvolva de forma
planejada, e, principalmente no caso em tela, a situao torna-se especial, pelo fato
de que tal atividade realizada eminentemente face aos recursos naturais.
Neste sentido, para remetermos nosso trabalho conceituao de dano
ambiental, mister se faz tecer uma breve conceituao do que dano, que pode ser
definido como todo prejuzo originado de um ato lesivo a um direito causado a
algum ou a toda sociedade.
O dano elemento essencial para configurar a responsabilidade de ordem
civil no que concerne a reparao, podendo ir alm, quando se configura o dano nas
situaes em que se aufere a responsabilizao criminal, mesmo que aqui possa ser
admitida a aplicao de sano por prticas de atos de mera conduta, sendo que tal
situao ser mais bem abordada nos prximos subitens.
Como j descrito, o meio ambiente amplamente tutelado em nosso
ordenamento jurdico, sendo considerado um direito fundamental da sociedade, e,
portanto, considerado um direito de toda coletividade, sendo que neste sentido,
qualquer ato praticado em inobservncia destes preceitos ser considerado como
atos atentatrios ao equilbrio ecolgico do meio ambiente, causando prejuzos de
ordem coletiva, uma vez que j ressaltamos seu interesse de ordem social.
Podemos assim considerar como dano ambiental toda e qualquer leso
resultante de atividade que seja lesiva ao meio ambiente, trazendo como
conseqncia a degradao do equilbrio ecolgico do ecossistema local ou
abrangente, comprometendo a qualidade do meio ambiente e a vida digna e
saudvel.
54
No que tange reparao dos danos causados pela prtica de atos contra o
equilbrio ecolgico do meio ambiente, podemos considerar a responsabilizao civil,
que possui carter objetivo, a responsabilizao penal e a administrativa, que
possuem carter eminentemente subjetivo.
6.1 Conceito de dano
Podemos conceituar o dano na amplitude jurdica como sendo um prejuzo
que foi originado de uma prtica de ato lesivo a um direito, sendo este tanto de
interesse social quanto de interesse individual.
Podemos afirmar que a Lei, por diversos meios aludiu sobre os
comportamentos antijurdicos, podendo com isso, impor uma sano penal quando a
conduta praticada fere os interesses que resultam em grande alarde social, sendo
certo que o direito penal visa chancelar a proteo de direito constitutivos da ordem
jurdica social quanto aos atos atentatrios em relao a estes direitos, os quais
merecem uma resposta mais contundente e enrgica na esfera jurisdicional.
Evidencia-se ainda, que pode ocorrer que a conduta praticada lese um
direito individual, prescindindo assim da responsabilidade criminal e remetendo-a
responsabilidade civil, e tambm, pode ocorrer que um ato lesivo venha a ser
praticado simultaneamente contra um interesse de grande alarde social e contra um
interesse individual, ocorrendo associao das duas responsabilidades.
Vale ressaltar que o dano requisito ou elemento essencial da etiologia da
responsabilidade civil, podendo-se considerar que h responsabilidade penal sem
resultante da mera conduta, mas em relao responsabilidade civil no pode
ocorrer responsabilizao sem o dano.
Neste sentido bem observa Pereira (1993, p. 37), quando diz que:
[...], inscreve-se o dano como circunstncia elementar da
responsabilidade civil. Por esse preceito fica estabelecido que a
conduta antijurdica, imputvel a uma pessoa, tem como
conseqncia obrigao de sujeitar o ofensor a reparar o mal
causado. Existe uma obrigao de reparar o dano, imposta a quem
quer que, por ao ou omisso voluntria, negligncia ou imprudncia,
causar prejuzo a outrem.
55
Tem-se como regra bsica para as questes patrimoniais no que concerne o
inadimplemento das obrigaes, a utilizao do preceituado no art. 1059 do Cdigo
Civil de 1916 e art. 402 do Novo Cdigo Civil, aplicvel tambm no que diz respeito
s questes extracontratuais, fixando que, salvo excees, as perdas e danos
abrangero alm do que efetivamente se tenha perdido, o que razoavelmente se
deixou de ganhar, sendo aqui explicitado com os advrbios efetivamente e
razoavelmente, que remetem interpretao da lei, no sentido de que o primeiro
refere-se aos danos emergentes, representando o que se perdeu, e o segundo
refere-se aos lucros cessantes, que representa aquilo que se deixou de ganhar.
6.2 HISTRICO SOBRE A REPARAO DO DANO
Em relao s origens da considerao do dano e sua reparao, podemos
afirmar que a primeira noo de que se tem conhecimento deu-se na Mesopotmia
com o Cdigo de Hamurabi, que era um sistema codificado de leis existente entre o
perodo de 1792 a 1750 a.C.
Tal cdigo estabelecia uma ordem social que era embasada nos direitos
individuais e aplicada em relao autoridade das divindades babilnicas e do
prprio Estado, tendo como princpio geral, que o fraco no poderia ser prejudicado
pelo mais forte, sempre demonstrando uma preocupao em conferir ao lesado uma
reparao equivalente ao dano.
O referido diploma primitivo possua tal noo de reparao de dano, onde
as ofensas eram reparadas na mesma ordem do dano, porm, alm dessa
reparao, valia-se o ofendido de uma reparao a ttulo pecunirio, mas o que deve
ser ressaltado que prevalecia o ditado olho por olho, dente por dente.
Tal reparao pecuniria consistia em proporcionar ao lesado uma forma de
compensao pelo direito lesionado, conforme expe Reis (1997, p. 10), ao dizer
que:
[...] a imposio de uma pena econmica consistia, sem dvida, em
uma forma de, custa da diminuio do patrimnio do lesionador
(que por si s constitui uma pena), proporcionar vtima uma
satisfao compensatria.
56
Podemos, ainda, concluir que esta compensao econmica, segundo
Clayton Reis, na realidade resulta em uma penalidade cuja finalidade primordial era
a de coibir os abusos de violncia e reprimir o sentimento de vingana (REIS, 1997,
p. 11).
Numa outra fase da histria, podemos notar um significativo avano em
relao ao Cdigo de Hamurabi, que foi a criao do chamado Cdigo de Manu,
resultado de uma sistematizao de leis antigas originadas na ndia que era
embasada em leis religiosas do Hindusmo e outras leis sociais, as quais at hoje
incidem na vida social e religiosa daquele pas.
Este diploma difere do Cdigo de Hamurabi pelo fato de que o Cdigo de
Manu estipulava como ressarcimento de uma leso jurdica apenas o pagamento de
um determinado valor pecunirio que era arbitrado pelo legislador, enquanto que o
outro ainda levava a cabo uma mesma leso que foi praticada em razo do agente
lesionador.
Ocorre que o Cdigo de Manu trouxe a primeira noo de responsabilizao
de dano moral quando supriu a violncia fsica por uma reparao de ordem
meramente pecuniria, de forma a satisfazer a clera e o sentimento de vingana do
lesionado.
Podemos ainda ressaltar a contribuio da civilizao grega que atingiu
pontos culminantes com seus grandiosos pensadores, onde, pela primeira vez falou-
se de democracia, tendo esta civilizao nos ensinado que a noo da reparao do
dano era pecuniria em conformidade ao que era institudo pelo Estado.
Neste sentido, citamos tambm os romanos, que contextuavam a exata
noo de reparao do dano, considerando que todo ato que representasse alguma
leso ao patrimnio ou honra de algum, resultava em uma conseqente
obrigao de reparar, possuindo ainda a exata noo dos delitos pblicos e
privados.
Neste contexto, pelo direito romano os atos atentatrios privados ofendiam
os interesses individuais, e os pblicos ofendiam o Estado, que por tal alarde eram
considerados mais graves. Observamos ainda, que os romanos, pela sua evoluo
57
enquanto civilizao, tambm possuam em seu contexto a noo de responsabilizao
por danos morais.
Podemos assim extrair que o fundamento da legislao da antiga Roma
assentava-se na reparao do dano atravs de pena pecuniria. Todavia, como se
denota pelos textos comentados, os romanos j aceitavam, ainda que
primariamente, a reparao do dano moral. Essa noo de reparao de dano moral
encontra-se no 9 da Lei das XII Tbuas que trazia em seu contexto que aquele
que causar dano leve indenizar 25 asses (REIS, 1997, p. 19).
Torna-se inegvel que a noo de reparao de dano ao longo da histria da
humanidade apresentou considervel evoluo, caminhando junto com a prpria
evoluo do Direito enquanto cincia, at resultar na conceituao de tutela
jurisdicional atual, levando em conta todas as consideraes em razo das situaes
em que se apura o dano.
Certo que nos primrdios, somente era considerado como dano, o dano
patrimonial, evoluindo at chegar considerao de um dano, que no era apenas
de ordem patrimonial, mas de ordem moral, que merece a devida reparao em
nosso ordenamento jurdico.
Neste sentido, podemos concluir que nas sociedades atuais, a considerao
do dano no patrimonial possui escolas, com forte influncia do Direito Romano,
evidenciando-se dentre elas a escola alem, a italiana e a francesa.
Em destaque, o Cdigo Alemo institudo em 1900, trazia que os danos
resultantes de delitos passaram a ser reparados de forma precisa, remetendo a
contextualizao do dano moral, em seu artigo 847, o qual dispunha que no caso de
leso do corpo ou da sade, assim como no caso de privao da liberdade, pode o
lesado, tambm ao dano que no seja patrimonial, exigir uma eqitativa satisfao
em dinheiro (REIS, 1997, p. 20).
Em razo do direito italiano, atualmente admitida em seu ordenamento
jurdico, tanto no seu cdigo civil quanto em seu cdigo penal, a satisfao de um
dano atravs de um pagamento pecunirio equivalente leso sofrida.
58
Por sua vez, explicitamos que no direito francs, que tambm possui forte
influncia do Direito Romano, em seu perodo mais remoto, no possua o
entendimento no que tange a questo subjetiva do dano, ou seja, a presena de
culpa para ensejar a reparao de um ato ilcito, consubstanciando deste modo
noo de responsabilizao eminentemente objetiva.
Conclumos esta explanao considerando a historicidade da reparao do
dano em relao ao direito brasileiro, principalmente, em relao reparao por
danos ao meio ambiente, onde afirmamos que, antigamente, era adotada a
responsabilizao objetiva fundada na teoria o risco, cujo entendimento prevaleceu
por longo tempo.
Entretanto, tal entendimento mudou sendo adotado a responsabilizao
subjetiva, que perdurou por algum tempo, fundando-se na teoria da culpa do agente
infrator. Contudo, atualmente adotamos a teoria do risco integral, principalmente nas
questes que envolvem danos ao meio ambiente.
6.3 CARACTERSTICAS DO DANO AMBIENTAL
Considerando-se que o meio ambiente consubstancia um bem jurdico uno e
autnomo, e, que tambm no pode ser confundido com os diversos bens jurdicos
que o compe, uma vez que este no configura um conglomerado de flora, fauna,
recursos hdricos e minerais, pois, apesar de poderem ser identificados
isoladamente, compe o bem jurdico meio ambiente enquanto um todo, no
podendo assim ser decomposto, uma vez que, se tal ocorresse, incorreria no
desaparecimento do bem jurdico ambiental.
Podemos considerar como sendo uma das caractersticas do dano
ambiental, a no individualizao das possveis vtimas, por tratar de um bem de
natureza difusa, o que veda tal possibilidade, pois os titulares de um direito referente
a uma reparao que possui objeto indivisvel, possuem seus titulares
indeterminveis, sendo ligados por circunstncias fticas, como bem observa
Benjamin (1993, p. 279), quando diz que:
59
[...] qualquer pretenso que se deduza em juzo buscando reparao
por dano causado ao meio-ambiente ser difusa, pois se trata de
direito cujo objeto indivisvel, sendo que os titulares desse direito
so indeterminveis e ligados por circunstncias de fato.
Nosso ordenamento jurdico consagra o regime da responsabilidade objetiva
no momento em que adota a teoria do risco integral, sendo certo que nos danos
ambientais, a conduta do agente, enquanto praticada com dolo ou culpa em matria
de reparao irrelevante, devendo ser indenizado sempre que for praticado ato
danoso ao meio ambiente, valendo-se de pressupostos para indenizar, como sendo
apenas, o evento danoso e o nexo de causalidade.
Tal adoo da teoria do risco em nosso ordenamento jurdico representa
uma considervel evoluo jurdica, conforme expe Benjamin (1993, p. 281), este
avano:
[...] se deve principalmente tendncia universal que se verifica em
matria de direitos difusos, no sentido de abandonar-se os sistemas
clssicos de responsabilidade subjetiva, que no mais atendem s
necessidades atuais da sociedade relativamente ao tema dos danos
causados ao meio ambiente.
Em relao ao pressuposto de nexo de causalidade devemos considerar que
o mesmo exigido tanto na responsabilizao objetiva quanto na subjetiva, e no
caso da responsabilizao por danos ao meio ambiente, basta evidenciar que o ato
praticado pelo autor revele-se como potencial causador do dano, no sendo
exigncia que o ato praticado pelo agente seja causa exclusiva do dano,
necessitando apenas da presena da conexo causal, e neste contexto expe
Benjamin (1993, p. 281): o que necessrio, isto sim, a presena da conexo
causal, vale dizer, relao de causa e efeito entre a atividade do agente e o dano
dela advindo.
Encontra-se tambm como caractersticas do dano ambiental a
complexidade de valorao dos bens em relao prtica danosa contra o meio
ambiente, bem como em determinados casos, pode se apresentar de forma a ser
difcil sua reparao, haja vista a complexidade em que se apresenta o tema, pois,
trata-se de um direito difuso num primeiro momento, sendo complexo determinar
quantitativamente a valorao de um bem que compe um direito social fundamental
60
em nosso ordenamento, e, num segundo momento, por ter sua natureza delicada
em relao ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a reparao do dano
pode ser de difcil efetivao.
Em vista da complexidade do fenmeno da poluio, s vezes pode se
tornar difcil a demonstrao cabal do nexo de causalidade, sustendo-se inclusive,
que tambm relevante a relao de eficincia causal quando apresentada de
forma indireta ou mediata, advindo como conseqncia a considerao de que:
da subsistncia dos fatos que, embora no produzam diretamente as
conseqncias danosas, contriburam para determinar um estado de
coisas suficientes para causar a produo de efeitos prejudiciais sem
os quais o dano no se teria verificado (BENJAMIN, 1993, p. 282).
Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva, basta que reste
demonstrado a existncia do dano em que o risco da atividade tenha exercido uma
incidncia causal decisiva.
Podemos ainda considerar em relao ao fenmeno poluente face sua
complexidade e natureza difusa, o fato de que em algumas vezes torna-se difcil
precisar a conduta poluente, tal como a individuao dos sujeitos imputveis e o
nexo causal dos fatos. Porm, a responsabilizao por danos ao meio ambiente
pode ser considerada de forma solidria entre os agentes infratores, pois, sendo
causado dano por mais de um agente infrator, todos respondero solidariamente por
todas as implicaes que possam ser observadas e apuradas em torno do dano.
6.4 CONCEITO DE POLUIO
Para conceituarmos poluio, mister se faz, primeiramente conceituar
poluidor, que o agente causador direito ou indireto da degradao do meio
ambiente, podendo ser pessoa jurdica ou fsica, de direito pblico ou privado,
conforme vem descrito no art. 3, IV da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que diz:
Art. 3 - Para fins previstos nesta Lei, entende-se por:
IV - poluidor, a pessoa fsica ou jurdica, de direito pblico ou privado,
responsvel, direita ou indiretamente, por atividade causadora de
degradao ambiental.
61
Devemos ressaltar que inicialmente houve a preocupao de se conceituar a
poluio das guas, levando-se em conta a legislao de mbito federal que
explicita em seu art. 3 do Decreto 50.877 de 29 de junho de 1961, definindo
poluio das guas como qualquer alterao das propriedades fsicas, qumicas e
biolgicas das guas que possa importar em prejuzo sade, segurana e ao
bem estar das populaes e ainda comprometer a sua utilizao para fins agrcolas,
industriais, comerciais, recreativos e principalmente a existncia normal da fauna
aqutica. Tambm devemos considerar, o Decreto 73.030, de 30 de outubro de
1973, que institui a Secretaria do Meio Ambiente, de mbito federal, definindo
poluio das guas, em seu artigo 13, 1, como qualquer alterao de suas
propriedades fsicas, qumicas ou biolgicas que possa importar em prejuzo
sade, segurana e ao bem estar das populaes, causar danos flora e fauna
ou comprometer o seu uso para fins sociais e econmicos.
Consideramos poluio, conforme definio abrangente da Lei de Poltica
Nacional do Meio Ambiente, como sendo:
[...] a degradao da qualidade ambiental resultante de atividades
que direta ou indiretamente: a) prejudique a sade, a segurana e o
bem estar da populao; b) criem condies adversas s atividades
sociais e econmicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d)
afetem as condies estticas ou sanitrias do meio ambiente; e)
lancem matrias ou energia em desacordo com os padres
ambientais estabelecidos (MACHADO, 1992, p. 287).
Nas referidas conceituaes, visa-se proteger o homem e sua comunidade,
o patrimnio pblico e privado, o lazer e o desenvolvimento econmico atravs das
diferentes atividades (alnea b), a flora e a fauna (biota), a paisagem, os
monumentos naturais, inclusive, os arredores naturais desses monumentos,
encontrando assim, tambm a proteo da CF/88, em seus artigos 216 e 225.
Em ltima anlise, devemos considerar poluio conforme explicita Machado
(1992, p. 287-288), como sendo:
[...] o lanamento de materiais ou de energia com inobservncia dos
padres ambientais estabelecidos. Essa colocao topogrfica da
alnea importante: pode haver poluio ainda que se observem os
padres ambientais. A desobedincia aos padres constitui ato
poluidor, mas pode ocorrer que, mesmo com a observncia dos
mesmos, ocorram os danos previstos nas quatro alneas anteriores,
62
o que, tambm, caracterizava a poluio com a implicao jurdica
da decorrente.
A conceituao da poluio nas legislaes estaduais no varia muito da
constante no mbito federal, sendo observado ainda que, tanto a legislao estadual
ou mesmo a municipal, ao tratarem da conceituao de poluio, ficam impedidas de
restringir ou diminuir o espao de proteo legal chancelada pela legislao federal,
sob pena de no gerarem efeitos, podendo apenas, ampliar tal conceito.
7 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NA ATIVIDADE DO ECOTURSIMO
Nosso ordenamento jurdico possui vrios dispositivos legais que regem a
responsabilizao por danos ao meio ambiente, normas estas que incidem tanto
sobre a tica processual quanto material.
Contudo, vale ressaltar que nosso trabalho trata eminentemente sobre a
atividade do Ecoturismo no que concerne ao aspecto material do Direito Ambiental,
e, portanto, no ser feito abordagem sobre o aspecto processual que envolve o
meio ambiente, principalmente no que concerne a temtica em questo.
Com a assertiva acima, podemos afirmar que mesmo tendo vrios
dispositivos legais em nosso ordenamento jurdico que nos remete a
responsabilizao por danos ao meio ambiente, consideramos que a previso legal
vem prioritariamente insculpida no artigo 225, 3 da Constituio Federal,
combinado com o artigo 14, 1 da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispe
sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente.
Neste sentido, extramos dos dispositivos supramencionados que sendo o
meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito de toda a coletividade por ser
um bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, sua ofensa
por condutas e atividades lesivas ao mesmo sujeitaro os infratores, tanto pessoas
fsicas quanto jurdicas, a sanes penais e administrativas, sem prejuzo da
reparao civil que ocorrer independentemente de culpa, em razo da degradao
da qualidade ambiental causada.
No obstante, outros diplomas infraconstitucionais completam o
entendimento e regem a responsabilizao ambiental, ou seja, completam o aspecto
protetivo do meio ambiente, dentre as quais destacamos a Lei 9.605/98 que dispe
64
sobre as sanes penais e administrativas ambientais, e ainda o Decreto Federal de
n 3.179/99 que especifica as referidas sanes administrativas.
7.1 NOES DE RESPONSABILIDADE
Em relao ao termo responsabilidade, devemos ressaltar que o mesmo
deve ser usado de forma correta e adequada, pois se no for devidamente
conceituado, poder resultar sob muitos aspectos, em sentido divergentemente
ambguo em razo da pobreza do vocbulo jurdico, motivo pelo qual destacamos
que a noo de responsabilidade esta intimamente ligada compreenso perfeita do
vocbulo em questo.
Contudo, destacamos que no resta dvida de que o termo responsabilidade
serve para indicar uma situao especial, sobremaneira, daquele que por qualquer
razo dever arcar com as conseqncias de um fato que possa ter gerado um
efeito danoso na esfera jurdica.
Devemos ainda, explicitar que observada tanto uma capacidade de se
obrigar e de ser responsvel, quanto uma capacidade de adquirir, sendo que esta
capacidade reside naquela que o centro de todas as capacidades, que a
personalidade jurdica.
No observamos uma responsabilidade onde no ocorra prejuzo, sendo
este considerado um dano, cuja a responsabilidade em nenhum caso, tanto de
pessoas fsicas quanto de pessoas jurdicas, poder prescindir do evento danoso.
Conforme explcita Cretella Jnior (1998, p. 9), que buscou a raiz axiolgica
da palavra responsabilidade, temos que: O vocbulo responsabilidade evoca o seu
cognato resposta, ambos alicerados na raiz spond do verbo latino respondere, cujo
significado responder.
O nobre doutrinador completa seu entendimento considerando quanto ao
agente e sua obrigao de arcar com as conseqncias, afirmando que
Responsvel aquele que responde e resposta sempre a
resultante de estmulo anterior causativo - a pergunta. Por outro lado,
irresponsvel o que no responde, deixando em suspenso o
65
dilogo, por falta do segundo elemento do binmio - a resposta. o
monlogo do irresponsvel (CRETELLA JNIOR, 1998, p. 9).
Com tais consideraes, uma vez apurado a existncia do dano que a
conseqncia de um ato realizado por um agente responsvel, fixa desta forma o
nexo causal entre agente responsvel que realiza o ato e existncia de um ato
danoso que gera seus efeitos, devendo assim, ser devidamente reparado o dano.
7.2 RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
Em sentido estrito a definio de responsabilidade civil encontra
divergncias desde o seu surgimento, em que os vrios cientistas do Direito nunca
pacificaram o entendimento em razo de sua definio, mas que para a problemtica
do tema em si, no consideramos interessante abordar de forma ampla a
controvrsia acerca da definio axiolgica da responsabilidade civil.
Contudo, definimos aquela que nos parece ser a mais interessante para a
abordagem do tema principal, onde a responsabilidade civil aparece na ordem legal
como sendo uma resposta jurdica a um ato ilcito lesivo praticado por um agente
infrator, pessoa fsica ou jurdica, cuja conduta resulte em prejuzo tutela de um
direito chancelado em nosso ordenamento jurdico ao titular de direito.
Nos tpicos seguintes abordaremos a responsabilizao civil sob vrios
aspectos em razo de sua tipicidade, tratando da responsabilidade civil, sob o foco
da teoria subjetiva, bem como, da teoria objetiva, e ainda, quanto sua disposio e
positividade dentro de nosso ordenamento jurdico. Assim, abordaremos a
responsabilidade civil consagrada na CF/88 e a responsabilidade civil no CDC, que,
enquanto instituidora da teoria do risco, preceito da responsabilizao civil
ambiental, a qual ser abordada na seqncia, principalmente em razo da atividade
do Ecoturismo, apenas na ordem material, como j devidamente mencionado, no
nos reportando ao aspecto formal.
66
7.2.1 Responsabilidade civil subjetiva
Iniciamos nossas consideraes acerca da responsabilidade subjetiva
enfocando que esta responsabilidade fundada sobre uma viso humanista da
sociedade, resultante de uma evoluo milenria, na qual cada agente, animado
pela razo, goza de seu livre-arbtrio (de sua conscincia) e senhor de seu destino
(GOMES, 2000, p. 37).
Tal considerao inicial fundada no exerccio social onde as condutas
humanas seguem os preceitos da liberdade responsvel, em que todos podem agir
com liberdade, mas, conscientes das conseqncias de seus atos se por ventura
deles advir algum dano.
Neste sentido, explicita Gomes (2000, p. 37) que:
assumindo sua liberdade e responsabilidade que se constri e forja
uma personalidade. Admite-se que todo membro da humanidade age
livremente, em conscincia, mas aceita responder pelas
conseqncias de seus atos, para restabelecer o equilbrio que teria
podido destruir: a verdadeira responsabilidade sempre de ordem de
justia comutativa.
Considerando a responsabilidade subjetiva, podemos ressaltar que o
homem pauta seu comportamento em relevncia ao pensamento de suas
respectivas condutas no que tange aos seus efeitos que em determinadas
circunstncias podem incorrer em faltas.
A conscincia e a liberdade supem a noo de responsabilidade, posto que
a liberdade e conscincia do homem nos remetem s consideraes da
responsabilidade enquanto ser social, fazendo parte relevante da coletividade.
Em relao ao que resta afirmado, o doutrinador acima mencionado destaca
que o homem responsvel, o homem jurdico, agua sua vigilncia (tica), pois ele
tem memria do direito. Antes de agir, ele se interroga sobre as conseqncias para
o corpo social, de seus atos (GOMES, 2000, p. 37-38).
Enfocando diretamente a definio de responsabilidade subjetiva, esta tem
como pressuposto essencial a presena da culpa, porm, no da culpa stricto sensu,
67
mas em sentido lato sensu, uma vez que em seu contexto incluem-se as condutas
dolosas.
Pela teoria subjetiva, no considerado como geradora de um efeito
ressarcitrio, um fato humano qualquer, devendo este ser razo para que se possa
observar a caracterstica de conduta ensejadora de responsabilizao, quando
possuir certos requisitos ou caractersticas definidas pelo ordenamento jurdico.
Assim, podemos considerar como descrio da teoria subjetiva aquela que
exige como pressuposto para uma obrigao de se indenizar, ou de reparar um
dano, o comportamento culposo do agente ou simplesmente sua culpa, abrangendo
tanto a culpa stricto sensu, quanto o dolo do agente.
No Direito Brasileiro, via de regra, observada a contextualizao da
responsabilidade civil subjetiva, assentando-se no princpio fundamental da culpa,
mesmo que em determinados casos, possa ser observado em algumas disposies,
a presena da responsabilidade subjetiva, recepcionando desta forma e nestes
casos, a teoria do risco, como bem observa Pereira (1993, p. 32) quando conceitua
como preceito capital que:
No direito brasileiro, a responsabilidade civil assenta-se no princpio
fundamental da culpa, sem embargo de algumas disposies
isoladas abrigarem a doutrina do risco. [...]. O mago da
responsabilidade est na pessoa do agente, e seu comportamento
contrrio a direito. A norma legal alude ao dano causado, mas no
um dano qualquer, porm, aquele que se liga conduta do ofensor.
Ainda em relao ao nosso ordenamento ptrio, temos que antes do Cdigo
Civil, como depois dele, a doutrina civilista tem sempre afirmado, com base em o
direito positivo, que a teoria da culpa o fundamento da responsabilidade civil
(PEREIRA, 1993, p. 33).
Em considerao ao art. 159 do Cdigo Civil de 1916 e art. 186 do Novo
Cdigo Civil, o pressuposto subjetivo que caracteriza o ato ilcito como elementar
para o ressarcimento do dano, embasa-se no princpio de que deve ser
caracterstico da conduta do infrator a conscincia de seus atos.
Neste sentido o doutrinador acima aludido destaca que:
68
o elemento subjetivo do ato ilcito, como gerador do dever de
indenizar, est na imputabilidade da conduta conscincia do
agente. Todo aquele que, por ao voluntria, diz o artigo, a
significar que o agente responde em razo de seu comportamento
voluntrio, seja por ao seja por omisso (PEREIRA, 1993, p. 32).
Pela teoria da culpa que move a responsabilidade subjetiva temos que nem
todo dano ressarcvel, mencionamos aqui os casos em que no se tem a
responsabilizao civil de carter subjetivo, sendo aqueles eventos danosos que
resultam de um fato involuntrio que o caso fortuito ou fora maior, bem como,
aqueles outros casos em que se observa a excludente de responsabilidade que so
a legtima defesa, o exerccio regular de direito, estado de necessidade, culpa da
vtima, culpa de terceiro, casos de renncia indenizao, ou ainda, quando for
observada a presena de clusula contratual de no indenizar.
Na doutrina subjetiva, observamos trs elementos que devem ser
considerados conjuntamente que so o dano, a culpa e o nexo causal entre o dano e
a culpa.
Para encerrarmos este tpico, devemos ressaltar que nosso ordenamento
jurdico no se filiou exclusivamente no sistema subjetivo, uma vez que em
consideradas circunstncias fticas e de direito adotado em nossa ordem legal a
teoria do risco, que enseja a responsabilizao objetiva, a qual explicitaremos no
tpico a seguir.
Por isso, vlido ressaltar as consideraes de Pereira (1993, p. 21-22), ao
explicitar que:
Estudando a responsabilidade civil em todos os seus aspectos e
ilustrando suas proposies com boas autoridades e com decises
judiciais pertinentes, Aguiar Dias pronuncia-se francamente pela
concepo objetivista. O nosso direito, diz ele, adota o princpio da
culpa como fundamento da responsabilidade. Entretanto no se
filiou, decisivamente, nem a um nem a outro dos sistemas j
apreciados. Em seguida, em definio clara de sua posio
doutrinria, acrescenta que o nosso legislador ficou extremamente
aqum das conquistas do direito da responsabilidade. Nele,
predomina o critrio da culpa, e nas exigncias retrgradas, porque
as presunes que se admitem no alcanam a extenso com que,
na maioria das legislaes modernas, se procurou facilitar, alis,
pouco cientificamente, em proveito do prejudicado, a caracterizao
da culpa.
69
7.2.2 Responsabilidade civil objetiva
Evidenciamos o surgimento da responsabilidade objetiva, mais precisamente
no final do sculo XIX, quando Saleilles dispe enfoque opositivo teoria clssica de
responsabilidade, evidenciando a Teoria do Risco, sendo posteriormente
desenvolvida por Josserand no incio do sculo XX, em que Gomes (2000, p. 141)
define como sendo a idia bsica, a seguinte: [...] toda atividade que faa nascer
um risco para outrem torna seu autor responsvel pelo dano que pode causar, sem
que tenha de comprovar falta em sua origem.
A teoria da culpa e a responsabilidade subjetiva tornaram-se a concepo
predominante nos ordenamentos jurdicos ocidentais nos dois sculos passados, e
no direito brasileiro, conforme j substanciado, est disposto no artigo 186 do Cdigo
Civil vigente, e, em relao a esta assertiva sobre nosso ordenamento jurdico,
explcita o Pereira (1993, p. 262) auferindo que consagrou o nosso Direito teoria
subjetiva ou da culpa como sendo a doutrina legal brasileira, posto que perfurada por
numerosos dispositivos que impem a reparao do dano com fundamento na
doutrina objetiva.
A teoria objetiva surge face crescente insatisfao com a responsabilidade
subjetiva predominante, restando demonstrado sua incompatibilidade frente ao
impulso desenvolvimentista presente em nossa poca vigente, onde tal circunstncia
trouxe, alm de oportunidades, tambm multiplicaes de causas de danos, sendo
assim percebido que a responsabilidade subjetiva j no era plenamente capaz de
propiciar sua reparao.
Neste sentido, Pereira (1993, p. 262) salienta que:
especialmente a desigualdade econmica, a capacidade organizacional
da empresa, as cautelas do juiz na aferio dos meios de prova
trazidos ao processo nem sempre logram convencer da existncia da
culpa, e em conseqncia a vtima remanesce no indenizada, posto
se admita que foi efetivamente lesada.
Frente situao ftica que se apresentava, houve o posicionamento de
vrios renomados juristas no sentido de buscar tcnicas e meios satisfatrios para
70
produzir de forma mais abrangente a reparao do dano, resultando no surgimento
da doutrina objetiva.
Porm, apesar de tomarmos por base algumas obras que marcaram o senso
evolutivo desta teoria, no podemos afirmar com exatido plena e rigorosa da ordem
cronolgica, sendo apresentado os aspectos mais marcantes que, conjunta ou
seqencialmente, chegam ao conceito atual. Destaca-se como um dos aspectos
tcnicos que contribuiu para o desenvolvimento da doutrina subjetiva e para uma
concepo mais moderna, a teoria da culpa presumida, aqui definida por Pereira
(1993, p. 263), como sendo:
[...] uma espcie de soluo transacional ou escala intermdia, em
que se considera no perder a culpa a condio de suporte da
responsabilidade civil, embora a j se deparem indcios de sua
degradao como elemento etiolgico fundamental da reparao, e
aflorem fatores de considerao da vtima como centro da estrutura
ressarcitria, para atentar diretamente para as condies do lesado e
a necessidade de ser indenizado.
Em relao presena da teoria da culpa presumida, podemos afirmar que
ainda subsiste a conceituao genrica da culpa como fundamento de
responsabilidade civil, porm, distanciando-se da concepo subjetiva tradicional em
relao ao onus probanti, em que observada uma inverso, de que em certas
circunstncias, presume-se a conduta culposa do agente causador do dano,
cabendo-lhe demonstrar a ausncia de culpa para desobrig-lo a indenizar.
A ecloso da responsabilidade objetiva com base na teoria do risco e o
declnio da responsabilizao como sendo a nica caracterizadora para que se
apurasse a responsabilizao civil, deve-se a trs aspectos evidenciados aqui por
Luiz Roldo de Freitas Gomes:
Alguns se atm evoluo dos dados de fato, outros das
mentalidades, sem contar o desenvolvimento do seguro. No tocante
primeira, trs se apresentam as razes. De incio a importncia
assumida pelas atividades coletivas (sociedades, empresas, equipes,
etc.), nas quais o acidente de certa forma annimo, de sorte que
tentador faz-los suportarem seu nus. Em seguida, porque a
atuao da responsabilidade subjetiva colide, na prtica, com o fato
de que o prejuzo provocado por uma falta difuso: ele atinge uma
coletividade de indivduos que normalmente, no dispe do direito de
agir a ttulo individual [...], ainda que a lei conceda muitas vezes hoje
um direito de ao a grupos, em se tratando de interesse coletivo.
Em terceiro lugar exsurge o desenvolvimento do maquinismo e a
71
supervenincia da sociedade industrial. Aparelhos e mquinas de
todo o tipo multiplicam os danos, ao mesmo tempo que aumentava
sua gravidade, ao passo que a vtima experimentava muitas vezes
dificuldade em demonstrar a falta que pudesse ser causa deles
(GOMES, 2000, 141).
Dentre todas as situaes, evidencia-se com considervel amplitude a do
desenvolvimento dos seguros, sendo que atualmente a responsabilidade objetiva
liga-se a possibilidade de que algum indivduo seja segurado, tendo como
responsvel quele que traz um seguro para a vtima, e, sendo este desconhecido,
no segurado ou insolvvel, uma outra forma de socializao dos riscos
considerada, que a interveno de fundos de garantia organizados pela lei
(GOMES, 2000, p. 143).
Considerando, ento, o ciclo evolutivo que culminou com o surgimento da
teoria objetiva, temos que esta ao invs de considerar para caracterizao da
responsabilidade civil os elementos tradicionalmente encontrados na doutrina
subjetiva, que so o dano, a culpa e o nexo de causalidade entra a culpa e o dano,
enseja sua responsabilizao no dano causado e na autoria do dano.
Neste sentido Pereira (1993, p. 269) explicita que: sem cogitar da
imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que importa para
assegurar o ressarcimento a verificao se ocorreu o evento e se dele emanou o
prejuzo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do dano o responsvel.
Em relao a quem se considera responsvel, temos para uns que aquele
que tira o proveito, com pensamento voltado no sentido de onde est o ganho est o
encargo, sendo esta teoria denominada teoria do risco proveito, entretanto, para
outros, existe a concepo de que prevalente a teoria do risco profissional, onde o
fato a ser considerado para indenizao decorrente do exerccio de uma atividade
ou profisso do lesado.
Temos ainda, a teoria do risco excepcional, em que a responsabilizao se
d em virtude de um fato que ocorre estranhamente funo normal e atividade da
vtima. Uma outra tese, se reporta a teoria do risco integral, que reparte por todos os
integrantes da coletividade os danos atribudos ao Estado.
72
Temos ainda a teoria do risco criado, que muitos doutrinadores acreditam
ser a mais indicada para ser adotada, por ser a que mais se adaptaria, segundo este
pensamento, s condies de vida social. Partindo desse posicionamento Pereira
(1993, p. 270) define que:
[...] O conceito de risco que melhor se adapta s condies de vida
social o que se fixa no fato de que, se algum pe em
funcionamento uma qualquer atividade, responde pelos eventos
danosos que esta atividade gera para os indivduos,
independentemente de determinar se em cada caso, isoladamente, o
dano devido imprudncia, negligncia, a um erro de conduta, e
assim se configura a teoria do risco criado.
Deste modo, evidenciamos aquela que entendemos ser a mais indicada,
principalmente em se tratando de matria ambiental, que a teoria do risco integral,
haja vista a natureza difusa do bem ambiental, ressaltando-se que esta a
predominante, tendo em vista que muitas vezes se faz praticamente impossvel
especificar quem o causador do dano ambiental, principalmente se houver mais de
um agente causador, fazendo-se necessria tal adoo doutrinria para imputao
da responsabilizao civil ambiental.
Face ao crescimento da teoria objetiva, a teoria subjetiva vem sofrendo
vrias crticas hostis, perdendo assim vrios adeptos em razo da insatisfao que a
mesma gerava por no conseguir atribuir responsabilidade a todos os casos que
surgiam, porm, o posicionamento de que a teoria subjetiva deveria ser totalmente
substituda, no deve prevalecer, devendo a mesma subsistir juntamente com a
teoria objetiva, observando-se a convivncia de ambas em nosso ordenamento
jurdico.
Os doutrinadores que defendem a teoria subjetiva o fazem sob o argumento
de que, pela demasiada ateno vtima, cerceia o princpio da justia social,
determinando o dever de reparar de forma imperativa, levando-o deste modo
equiparao do comportamento jurdico e antijurdico do lesionador. Em
posicionamento enrgico em relao s crticas, em verdade, afirmam estar as
legislaes voltando aos primrdios do Direito, ao acompanharem a inovao da
teoria do risco, remetendo-nos a regresso do perodo da Lei das XII Tbuas.
73
Por sua vez, aqueles que defendem a doutrina da responsabilidade objetiva,
mesmo reconhecendo as crticas que so tecidas referida teoria, afirmam que ao
menos reconhecem e se interam de tal equvoco, afirmando tratar-se de uma
questo de se resolver os casos em que a teoria da culpa no possui o condo de
promover justia.
O que se conclui que as duas teorias devem conviver em harmonia,
devendo ser ressalvado que a teoria subjetiva deve ser encarada como regra geral,
e a teoria objetiva como exceo a ser observada em determinados casos especiais,
como se apresenta nas questes ambientais, sendo que, mesmo que a teoria do
risco tenha chegado com grande entusiasmo no meio jurdico, o certo que esta no
substituiu a teoria da culpa, que se adequa melhor em outras tantas situaes.
No ordenamento jurdico brasileiro impera a responsabilizao subjetiva em
direito privado, porm, alguns setores jurdicos so regidos pela teoria do risco,
como o caso dos direitos difusos e coletivos, especificamente ao tratar de matria
de meio ambiente e consumidor, convivendo assim, as duas teorias em perfeita
harmonia.
Sendo regra a responsabilidade subjetiva e tendo-se a responsabilidade
objetiva em carter de exceo, esta ltima observada nos casos legalmente
previstos e especificadamente enunciados, ou, nos casos em que o dano provm da
criao de um risco, tendo a vtima sido exposta em razo de atividade ou exerccio
profissional do agente, sendo alargado a obrigao de reparao do dano.
Observamos casos de responsabilidade objetiva naqueles em que o agente
age em legtima defesa, em estado de necessidade, ou ainda, no exerccio regular
do direito, porm, causando danos a algum no poder deixar de ser
responsabilizado, onde, se analisado pela teoria da culpa, o agente causador do
dano no seria obrigado a ressarcir pelo fato de ter agido dentro da legitimidade.
Porm, pela responsabilidade objetiva, no obstante a ausncia de culpa, a
responsabilidade ser apurada com base na relao entre fato e dano.
Apresenta-se nesses casos, o conflito de dois direitos, sendo o de quem
danifica a coisa de outrem e o que tem sua coisa danificada, porm, a ordem jurdica
no sentido de que seja o agente lesionador condenado a ressarcir sem
74
consideraes a natureza subjetiva, tendo como limite o preceito de que o causador
do dano no exceda a razoabilidade que atesta a relevncia social de seu direito,
onde, mesmo sem aludir a culpabilidade do agente, este dever indenizar
(PEREIRA, 1993, p. 277).
A responsabilizao objetiva de suma importncia para as questes
ambientais, pois, na responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, como j
afirmado, muitas vezes difcil identificar o agente lesionador, bem como, pode ser
difcil individualizar as vtimas, principalmente por tratar-se de um direito difuso, o
que justifica em matria ambiental a consagrao da teoria do risco integral.
7.2.3 Responsabilidade civil na CF
Para que haja a tutela de um direito no ordenamento jurdico ptrio na esfera
infraconstitucional, devemos ressaltar que, a priori, dever estar este direito previsto
e consagrado na Constituio Federal, que a base para todo ordenamento jurdico
brasileiro.
Com tais consideraes, imprescindvel se faz explicitar a importncia da
legislao constitucional, remetemo-nos a observncia de alguns dispositivos legais
que se encontram insculpidos na Carta Magna de 1988, como por exemplo, o art.
37, 6 que prev a responsabilizao das pessoas jurdicas de direito pblico e
privado prestadoras de servios pblicos quando da provocao de danos a
terceiros por agente pblico no exerccio de suas funes, conforme alude:
Art. 37 - [...]
6. As pessoas jurdicas de direito pblico e as de direito privado
prestadoras de servios pblicos respondero pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsvel nos casos de dolo ou culpa.
Temos ainda, em relao competncia concorrente de legislar sobre a
responsabilidade de danos ao meio ambiente, como sendo da Unio, Estados e
Distrito Federal, insculpidos no art. 24, VIII da CF/88, que dispe:
Art. 24. Compete Unio, aos Estados e ao distrito federal legislar
sobre matria concorrentemente sobre:
75
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artstico, esttico, histrico, turstico e
paisagstico.
Por fim, podemos considerar a questo da responsabilizao civil
independendo da responsabilizao penal ou administrativa, principalmente sob o
prisma do art. 225, 3 da CF/88, especfico para nossa temtica, considerando a
responsabilizao civil ambiental em razo da atividade do Ecoturismo, proclama:
Art. 225. [...]
3. As condutas e as atividades lesivas ao meio ambiente
sujeitaro os infratores, pessoas fsicas ou jurdicas, a sanes
penais e administrativas, independente da obrigao de reparar os
danos causados.
7.2.4 Responsabilidade civil no CDC
Em observncia ao dispositivo constitucional que determina em seu art. 5,
XXXII, que o Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor, e com a
entrada em vigor do Cdigo de Defesa do Consumidor em maro de 1991, houve
uma verdadeira revoluo em relao responsabilidade civil, uma vez que em seu
artigo 1, o novo diploma legal estabeleceu suas normas como sendo de ordem
pblica e de interesse social, bem como, de aplicao necessria e observncia
obrigatria, pois, as normas consideradas de ordem pblica so aquelas que
positivam os valores bsicos de uma sociedade, permitindo uma maior efetivao
dos direitos difusos e coletivos.
Com o advento do referido diploma, a fim de cumprir com sua vocao
constitucional, cria-se uma sobre-estrutura jurdica multidisciplinar, sendo aplicvel a
todas as relaes de consumo e em qualquer circunstncia, no direito pblico ou
privado, contratual ou extracontratual, material ou processual, instituindo assim, uma
disciplina jurdica nica, uniforme e destinada a tutelar os direitos materiais ou
morais dos consumidores em geral em nosso ordenamento jurdico.
Podemos considerar que o CDC trouxe baila uma nova rea da
responsabilidade civil que podemos denomin-la como a responsabilidade nas
relaes de consumo, cuja vastido no nos leva ao exagero ao considerarmos que
76
hoje a responsabilidade civil est dividida em duas partes, sendo a responsabilidade
tradicional e a responsabilidade prevista nas relaes de consumo.
Ante a natureza da atividade do Ecoturismo, diante de seus principais
fatores de desenvolvimento, que alia o aspecto econmico-social com proteo
ambiental, destacamos a importncia da responsabilizao nas relaes de
consumo, pelo fato de que a responsabilidade estabelecida no CDC do tipo
objetiva, sendo fundada no risco do empreendimento. Por esta razo, sem demasia,
podemos afirmar que a partir deste diploma legal, a responsabilidade objetiva at
ento era exceo em nosso ordenamento jurdico, passando assim, com o novo
advento, a ter um campo de incidncia muito mais abrangente do que a prpria
responsabilidade subjetiva no que tange aos direitos difusos e coletivos.
7.2.5 Responsabilidade civil ambiental na atividade do ecoturismo
Para nos debruarmos na questo da responsabilizao civil por danos
causados ao meio ambiente, primeiramente devemos salientar que esta modalidade
de responsabilizao no Direito Ambiental regida principalmente pelo princpio do
Poluidor-pagador, estabelecendo a responsabilizao do tipo objetiva, pautada na
teoria do risco integral, ambas j amplamente delineadas neste trabalho.
Machado (2003, p. 240), aborda a questo informando que:
A Conveno sobre responsabilidade civil dos danos resultantes de
atividades perigosas para o meio ambiente, elaborada sob o
patrocnio do Conselho da Europa, foi aberta para a assinatura dos
pases integrantes em Lugano, aos 21 de junho de 1993. Nos seus
considerandos diz ser oportuno 'estabelecer neste domnio um
regime de responsabilidade objetiva, levando em conta o princpio
poluidor-pagador.
Em se tratando de matria ambiental, no se poderia utilizar outra forma de
responsabilizao, que no a responsabilidade objetiva, pois, a responsabilidade
subjetiva insuficiente para regular a questo por deixar de oferecer uma resposta
jurdica para a tutela de alguns direitos.
77
Neste pensamento, no que tange a responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente ser objetiva, encontra-se justificativa para que assim seja procedido, ao ser
levado em considerao que muitas vezes impossvel comprovar a inteno na
conduta do agente poluidor.
Corroborando com este entendimento, Benjamin (1993, p. 238), atesta que:
O grau de complexidade da vida moderna e a interdependncia
crescente entre as pessoas, mormente nos grandes conglomerados
urbanos, a explorao de recursos naturais e os processos de
agigantamento das atividades empresariais, a sempre crescente
participao do Estado quer na economia, quer atuando com vistas
ao entendimento das necessidades pblicas, tudo isso, e outra
dezena de fatores que poderiam ser enumerados, concorrem
ampliao de situaes onde as pessoas eventualmente fossem
lesadas, mas onde era impossvel definir com preciso a culpa do
agente causador do dano. Reconhecia-se a existncia deste,
reconhecia-se que algum havia sido lesado, todavia permanecia a
vtima indene pela impossibilidade de se apontar com segurana o
requisito da culpa do agente.
A responsabilizao civil do agente causador de danos ao meio ambiente
dever ser apreciada com base na teoria do risco integral, sendo que nestas
relaes se apresenta a responsabilidade objetiva, uma vez que, no pode ser
apreciada subjetivamente a conduta do poluidor, mas, em razo do prejuzo causado
ao homem e o meio ambiente, onde a atividade poluente resulta numa apropriao
por parte do poluidor dos direitos de outros indivduos, sendo estes direitos
correspondentes ao meio ambiente como conjunto de um bem de natureza difusa.
Considerando-se a relevncia do Direito Ambiental, no poderamos
vislumbrar a questo da responsabilizao civil somente nos moldes do Direito
Privado, fundado na conduta do agente em relao culpabilidade para que se
possa determinar a indenizao ou reparao do meio afetado, uma vez que, devido
ao aumento das atividades econmicas e a franca utilizao dos recursos naturais
pela fragilidade de controle de seu uso, observamos que tal situao exige um
tratamento em que se observem os liames dos Direitos Difusos e Coletivos, e no
pelos limites do Direito Privado e nem do Direito Pblico em sua essncia.
A responsabilidade objetiva em matria ambiental veio ser positivada com o
advento da Lei 6938/81, que dispe sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente e de
Outras Providncias, que, em seu art. 4, VII, impe ao poluidor e ao predador a
78
obrigao de reparar e, ou, indenizar os danos que viessem a ser causados, bem
como, ao usurio de recursos ambientais com fins econmicos, uma contribuio
pela utilizao desses recursos, estabelecendo ainda, em seu art. 14, 1, que o
no cumprimento das medidas necessrias preservao ou correo dos
inconvenientes e danos causados pela degradao da qualidade ambiental,
sujeitava o agente a diversas penalidades de ordem econmica e de restrio ao
exerccio de sua atividade, sem embargo da sua obrigao de indenizar ou reparar
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade
(BENJAMIN, 1993, p. 242).
Neste sentido, aufere Castro (2000, p. 242) que:
A primeira lei brasileira a cuidar, sistematicamente, da questo
ecolgica, foi a Lei de Poltica Nacional do Meio Ambiente (n
6.938/81). Existiam, antes, preceitos isolados, com os quais se
procurava alguma construo mais elaborada, como a prpria
referncia poluio, no mbito do direito de vizinhana (arts. 554 e
584 do Cdigo civil), ou mesmo leis especiais relativas gua,
florestas, caa, pesca, minerao, saneamento, etc., e,
posteriormente, convenes ratificadas pelo Brasil.
Assim, destacamos que o legislador quis, neste diploma, tratar da
problemtica do dano ambiental, ensejando por seu duplo prisma, como bem
observa Benjamin (1993, p. 242), quando aufere que:
De espectro muito mais amplo, a lei que se examina veio a tratar da
questo do dano ecolgico sob o seu duplo prisma. Do dano
causado ao meio ambiente e do dano suportado por particular,
estabelecendo em qualquer caso a responsabilizao do agente
independente da existncia de culpa.
Em relao ao dano ecolgico, que em termos de responsabilizao civil no
podemos considerar a problemtica apenas por consideraes e circunstncias
atuais, mas tambm, sob o bice de sua projeo, conforme se posiciona Castro
(2000, p. 109), evidenciamos que:
Ainda que eventual percia constate a ausncia nociva imediata, h
que se verificar a projeo do problema no tempo, sopesando as
solues, no se trata apenas de 10 ou 15 anos, e sim de direito
constitucionalmente ressalvado a geraes futuras. A prpria idia de
desenvolvimento sustentvel tem a seu alicerce (CASTRO, 2000, p.
109).
79
Quanto aos pressupostos da responsabilizao civil no Direito Ambiental,
relacionamos trs, que so: a ao ou omisso do agente, o evento danoso e a
relao de causalidade.
Para ocorrer responsabilizao civil no Direito Ambiental, devemos
evidenciar a presena de prejuzo constatado no meio ambiente, no somente
atravs de uma destruio, mas quando esta por sua repetio e insistncia venha a
exceder a capacidade do meio de suportar os efeitos no limite de sua tolerncia, ou
ainda, da capacidade de eliminao e de reintroduo dos resduos na esfera
biolgica, podendo ser, contudo, derivado de um nico acontecimento e de cunho
acidental, sendo que o reconhecimento deste carter acidental da poluio no
significa que ocorreu caso fortuito ou fora maior, entretanto, ainda que tivesse
ocorrido, no representaria iseno de responsabilizao e nem a impossibilidade de
se obter a reparao.
Ademais, para que se possa determinar a responsabilizao civil por danos
ao meio ambiente em razo da relao de causalidade, alm do prejuzo a ser
apurado, devemos estabelecer um nexo entre a sua ocorrncia e a sua fonte de
origem, sendo que, se existir somente um foco de origem, no haver dificuldade
para estabelecer a responsabilizao, porm, havendo pluralidades de autores,
traar um liame causal, pode ser um pouco mais trabalhoso, mas no tarefa
impossvel, uma vez que ocorre solidariedade entre os autores, conforme
pensamento de. Benjamin (1993, p. 244):
[...] em conseqncia mesmo da irrelevncia de existncia de
pluralidades de elementos poluidores, pode-se inferir que deve
prevalecer entre eles o vnculo de solidariedade. que uma das
maiores dificuldades que se pode ter em aes relativas ao meio
ambiente exatamente determinar de quem partiu efetivamente a
emisso que provocou o dano ambiental.
No nos parece razovel que o fato de no podermos individualizar
precisamente quanto cada agente poluidor poderia ser responsabilizado, seja motivo
para no indenizar os danos causados, sendo que a soluo estaria centrada na
ligao de causalidade.
Resulta, conseqentemente, neste sentido, uma relao de solidariedade
entre todos os agentes poluidores, mesmo que seja alegado por parte dos mesmos
80
a no existncia de nexo de causalidade entre a conduta isolada de cada poluidor e
o seu resultado, devido aos mltiplos fatores atuando em conjunto, considerando-se
inapta conduta isolada de levar por si ao suposto dano.
Ocorre que a solidariedade no presumida, conforme dispe o artigo 265
do novo Cdigo Civil, e, sendo utilizada nas questes ambientais, ir gerar
responsabilizao solidria a todos os agentes envolvidos na produo do dano,
como bem observa Castro (2000, p. 113) ao afirmar que: o Cdigo Civil deixa
patenteado que a solidariedade no se presume [...], pode-se objetar contra sua
incidncia nos males ecolgicos, sob a assertiva de ausncia de previso expressa
e ntida.
A questo da solidariedade na responsabilizao dos danos causados ao
meio ambiente difere um pouco da conceituao tradicional em relao sua
aplicabilidade, uma vez que na primeira, a degradao e a ofensa ao bem jurdico
ambiental so um processo contnuo no que tange aos danos ambientais, no
havendo divises isoladas.
Em relao as excludentes indenizatrias, devemos salientar que a
imprevisibilidade relativa no exclui o agente poluidor de indenizar os prejuzos,
sendo certo que o exigido por lei refere-se a precaues acima da mdia,
analisando-se os benefcios da atividade e desenvolvimento de capacidade
preventiva.
Neste sentido, salienta Castro (2000, p. 116) que:
No campo do meio ambiente, a inevitabilidade exclui a imputao se
e enquanto presente todos os fatores positivos, como o saldo de
benefcios efetivos da atividade, o cumprimento de todas as
exigncias, a busca do constante desenvolvimento tecnolgico
inovador, o exame das necessidades coletivas das populaes, atual
e futura.
Assim, conclumos que a lei age de forma a agravar plenamente o potencial
imputao do poluidor e a excluso da responsabilidade de reparar o dano, que
somente se faz possvel, ante a presena dos elementos positivos j referidos, cuja
tica dinmica preceitua que a qualquer momento pode haver uma mudana.
81
O enfoque da responsabilidade civil em razo da atividade do Ecoturismo se
faz fundamental para a abordagem do tema principal deste trabalho, considerando
que na atualidade, faz-se importante a preocupao com o meio ambiente no que
tange a explorao de atividade econmica de forma sustentvel, pois envolve a
utilizao do meio ambiente como fonte de renda e objeto principal da atividade,
fazendo-se necessrio delinear as peculiaridades deste tipo realizao.
Nos tempos atuais, devido a grande evoluo econmico-industrial por suas
atividades, vrias so as situaes em que a presena do ente jurdico nesta relao
de dano e reparao uma constante, sendo fundamental sua presena em razo
realizao de atividades alternativas como o caso do Ecoturismo, que pode ser
instrumento potencial para o alcance da preservao e conservao do meio
ambiente desde que realizado de forma planejada e em respeitos as diretrizes
ambientais.
Tal idia corrobora com a mxima do desenvolvimento sustentvel, no
fugindo assim, do objeto de sua consecuo, haja vista que o Ecoturismo alia
preservao e conservao do meio ambiente com a explorao econmica.
Vale ressaltar que em matria de responsabilidade civil ambiental, as regras
valem para todos os tipos de atividades que resultem na interferncia no meio
ambiente e que vise a consecuo de algum interesse, o qual, via de regra, se
reporta ao interesse econmico, sendo certo que a responsabilizao pode ser tanto
da pessoa fsica, como da pessoa jurdica.
Sabemos que a responsabilizao rege-se pela teoria do risco integral,
ensejando a responsabilidade objetiva, porm, o que difere muitas vezes da situao
ftica, a caracterizao em relao ao agente causador e as propores reais dos
danos causados ao meio ambiente.
Os danos causados ao meio ambiente por vrias atividades que no
planejam ou que no se preocupam em mitigar os riscos ambientais, em suma,
causam um impacto muito grave ao meio ambiente, ficando difcil determinar, em
alguns casos, a amplitude dos danos causados ao equilbrio ecolgico, em que, o
fato do Direito Ambiental tutelar direito difuso, muitas vezes torna complexo
82
determinar e individualizar quem e o que dever ser indenizado, porm, no temos
tal misso como sendo uma tarefa impossvel.
Em determinados casos, face natureza do dano causado ao meio
ambiente, a pessoa jurdica obrigada, alm de desembolsar quantia vultuosa a
ttulo de indenizao, , principalmente, obrigado a reparar o dano causado ao meio
ambiente, isto quando possvel, visando diminuir ou cessar os efeitos da
degradao.
Contudo, salienta-se que o tipo de reparao supramencionada, ou seja, a
denominada reparao especfica ou in natura so as que devem ser observadas
em primeiro plano, tendo em vista a importncia do bem ambiental para toda a
coletividade, e a outra, denominada pecuniria, somente observada a posteriori,
ressaltando-se, entretanto, que pode haver cumulao das duas.
Em nosso ordenamento jurdico, a responsabilizao civil ambiental est
prevista no artigo 225, 3 da Constituio Federal, sendo certo que neste contexto
inserem-se tambm os empreendedores da atividade do Ecoturismo, devendo estes
se aterem s normas infraconstitucionais que regem todo o ordenamento, j que tal
atividade tpica de consumo, no se difere de nenhuma outra atividade existente na
ordem legal.
Podemos assim definir, conforme j explicitado no tpico que trata da
responsabilizao ambiental de um modo geral, que haver a responsabilizao
solidria entre todos os entes poluidores, uma vez que, o fato de no se poder
individualizar proporcionalmente quanto cada agente poluidor dever ser
responsabilizado em razo de suas atividade, no dever ser motivo para que no
seja imputada a responsabilizao dos entes de personificao fsica ou jurdica,
pois, como j delineado, a responsabilidade solidria no se presume.
Assim, ao estipularmos polticas pblicas srias, metas e regramentos para
o desenvolvimento da atividade do Ecoturismo, estaremos proporcionando a
possibilidade de se aliar desenvolvimento e preservao do meio ambiente, e, se
no agirmos de forma a impedir fatores contribuintes para a degradao ambiental,
como por exemplo as atividades ilegais como o trfico de animais silvestres, ao
83
menos estaremos contribuindo consideravelmente para que tal quadro seja
diminudo.
Certo que, havendo ofensa ao bem jurdico ambiental pela falta desse
planejamento, dever ser responsabilizado o ente poluidor, dependendo da
repercusso social, na esfera civil, sem prejuzo da responsabilizao penal e
administrativa, sendo possvel, como sabido, sua cumulao.
Destarte, ao utilizarmos princpios como da Educao Ambiental, estaremos
disseminando a conscientizao ecolgica no sentido da proteo do meio
ambiente, em que a demonstrao de que o incentivo da prtica de atos lesivos ao
meio ambiente somente tem a trazer prejuzos as populaes scio-econmicas
mais carentes, sendo certo que a conservao e preservao ambiental trar muitos
benefcios oriundos de prticas sadias como o desenvolvimento da atividade
denominada Ecoturismo.
A grande questo que se encarna deve-se necessidade de preservao e
conservao do meio ambiente para que possamos atingir o objetivo destacado pela
atividade do Ecoturismo, que o desenvolvimento econmico e a proteo
ambiental. Assim, resulta possvel alcanar tais objetivos, quando efetivamos a
utilizao racional e planejada dos recursos tursticos e naturais, envolvendo numa
dada regio todos os entes relacionados com a atividade mencionada, ou seja,
populao local, entes pblicos, sociedade civil organizada e comunidade em geral.
Deste modo, como a atividade do Ecoturismo deve ser efetivada atravs de
um planejamento ambiental, tendo em vista que desenvolve uma atividade
econmica tpica de consumo, no se pode admitir que esta se desenvolva de forma
meramente emprica e sem um planejamento tcnico-cientfico.
Se tal prtica ocorrer sem a observncia deste planejamento tcnico-
cientfico, resultar em danos ao objeto maior para sua consecuo: o progresso
econmico e social atravs da utilizao racional e sustentvel dos recursos
ambientais. Desse modo, dever ser imputada a responsabilizao ambiental para
todos os entes que no observarem as normas do conjunto jurdico ambiental.
84
7.3 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
Iniciamos nossas consideraes em relao responsabilidade
administrativa, destacando que a mesma ocorre em razo do Poder Pblico e seus
administrados, resultantes de condutas lesivas ao direito coletivo por extrapolarem o
exerccio do direito individual, facultado a todos os cidados comuns.
Sob uma outra tica, a responsabilizao administrativa tambm
observada em considerao s relaes entre funcionrio e a Administrao Pblica,
isto no que tange ao fato do mesmo poder ser responsabilizado por desempenhar
suas funes pblicas ou a pretexto de desempenh-las, sem prejuzo das
responsabilizaes penais e civis, em ambas as situaes descritas at aqui.
Esta responsabilidade administrativa observada entre a administrao e o
cidado comum definida como sendo aquela sano em que se observa a
cominao de uma medida desvantajosa para o administrado, pelo fato de ter
violado um preceito de conduta estipulado pela administrao, cujo efeito impea a
satisfao de um interesse pblico.
Para Zanobini (apud Freitas, 2001, p. 24), a responsabilidade administrativa
tem por objeto a aplicao das penas, que, todavia, no fazem parte do direito penal,
porque no so aplicadas pelo Estado na sua funo jurisdicional, mas no exerccio
de um poder administrativo.
Em considerao relao jurdica existente entre o Poder Pblico e o
cidado comum, Vladimir Passos de Freitas denota que este tipo de relao jurdica
estabelecida entre este dois entes:
[...] pessoa e o poder pblico o resultado direto de uma conduta
contrria norma vigente. Entre ambos se estabelece, ento, um
vnculo, atravs do qual se permite ao Estado a imposio de uma
sano administrativa. Assim, determinada ao ou omisso podem
constituir um ilcito administrativo, independentemente de vir ou no
a ser um ilcito penal ou civil (FREITAS, 2001, p. 24).
Neste sentido, podemos afirmar que a responsabilidade administrativa
representa um meio de efetivao jurdica, que visa, atravs da estrutura da
Administrao Pblica, assegurar o controle das atividades desenvolvidas em razo
85
das pessoas integrantes da sociedade, sendo elas fsicas ou jurdicas, sendo
facultado, em caso de no observncia de seus preceitos, sujeitar o infrator a
sanes administrativas com observncia aos princpios da Administrao Pblica,
principalmente ao princpio da Legalidade, pois, somente pode esta impor seu poder
de polcia, se houver previso da possibilidade em lei que lhe faculte proibir ou impor
alguma coisa.
Em razo da Administrao Pblica possuir o poder de polcia sobre os
administrados, pode exerc-lo nas situaes que envolve o meio ambiente, visando
controlar as atividades que causam impacto ambiental negativo, seja pelo fato de ser
o mesmo insuportvel para a qualidade ambiental na evidenciao de um dano, ou
ainda, pelo seu simples risco de acometimento, efetuando o controle direto sobre as
fontes geradoras de poluio ou utilizadoras de recursos naturais.
As sanes aplicadas na esfera administrativa so de cunho pecunirio ou
referente ao regime de controle da Administrao Pblica sobre a prtica autorizativa
para o exerccio de alguma atividade, reportando-se a referida responsabilizao
falta de cumprimento de deveres e obrigaes com implicao social.
7.4 RESPONSABILIDADE PENAL
Apesar da temtica envolvendo a responsabilizao civil ter alcanado uma
considerao mais abrangente, mister se faz ressaltar a responsabilidade no mbito
penal, o que nos permite afirmar que a ilicitude no uma peculiaridade do Direito
Penal, uma vez que configura uma contrariedade entre a conduta e a norma jurdica,
podendo ter por este motivo, lugar em qualquer ramo do Direito.
As consideraes em relao ao ilcito penal devem ser taxadas tendo em
vista, exclusivamente, as normas jurdicas, que impem o dever violado pelo agente
infrator atendendo aos critrios de convenincia ou de oportunidade, ligados
intimamente ao interesse da sociedade e do Estado com variao em relao ao
tempo e ao espao.
Podemos dizer que as condutas consideradas mais graves, aquelas que
atingem bens sociais de maior relevncia, so as sancionadas pela lei penal,
86
concluindo-se que para o direito penal considerado apenas o ilcito de maior
gravidade objetiva ou o que afeta mais diretamente o interesse pblico, passando
assim o ilcito penal por repercutir com maior alarde na esfera social.
Em nosso ordenamento jurdico, a responsabilidade penal ambiental vem
regulada via de regra pela Lei 9.605/98 que disciplina os crimes ambientais, vindo a
consagrar o disposto no artigo 225, 3 da CF/88 estando ainda em consonncia
com o que prev o artigo 5, XLI da Carta Maior.
Tal medida pretendia tutelar de forma mais efetiva o meio ambiente na
esfera penal, sistematizando as incidncias dos crimes ambientais em um nico
diploma, prevendo ainda, de forma inovadora, a responsabilizao penal da pessoa
jurdica, tendo tal diploma sofrido algumas crticas por parte dos doutrinadores
ptrios sobre vrios dos seus aspectos.
Indiscutvel a assertiva de que a tutela ambiental constitui-se num
interesse fundamental da sociedade e o direito penal no pode se manter afastado
da realidade social, que por constituir uma necessidade social, deve acompanhar as
constantes evolues sociais, tecnolgicas e cientficas.
Isso no significa, no entanto, que se proceda a uma profunda
criminalizao de condutas que afetem o meio ambiente, devendo ser realizada uma
anlise criteriosa, criminalizando apenas os atos de grande e significativa relevncia.
Devemos observar, dentro de nosso ordenamento, a concepo de dois
tipos existentes de crimes: o crime de perigo e o de desobedincia, ressaltando-se
que nesta matria a maioria dos tipos penais configura crimes de mera conduta,
muitas vezes com a observncia de mera desobedincia s prescries
administrativas.
Quanto responsabilizao ao crime de perigo de dano nas infraes
ambientais, consideremos que se apresenta mais eficaz, uma vez que basta ocorrer
possibilidade de dano.
J no delito de desobedincia, devemos nos atentar para a inobservncia
das prescries emanadas das autoridades administrativas, considerando-se ainda,
que existir o crime quando observada exposio a perigo a mencionada destinao
87
natural pelo agente infrator, bem como, resta caracterizada a ilicitude do ato
praticado delito de natureza culposa merece considerao especial em se tratando
de matria ambiental, como bem salienta o Benjamin (1993, p. 312), ao evidenciar
que: a figura do delito culposo em matria ambiental merece destaque especial,
uma vez que, apesar de ocorrer com certa freqncia, previsto apenas em alguns
poucos dispositivos da legislao penal.
Estas consideraes devem ser levadas em conta, pois, apesar da forma
culposa dos delitos contra o meio ambiente serem mais freqentes do que a dolosa,
tendo em vista ser aquela produzida por imprudncia, impercia, negligncia, ou
ainda, inobservncia de regulamentos, ordens, ou outras medidas do tipo, o fato de
sua previso estar restrita a alguns poucos dispositivos legais, leva necessidade
de uma profunda reformulao da legislao neste campo.
Observa-se que as sanes penais previstas na legislao vigente para os
delitos contra o meio-ambiente so as privativas de liberdade, restritivas de direito e
pecunirias, ou seja, todas aquelas previstas no Cdigo Penal, devendo ainda ser
explicitado que o delinqente comum muito se diferencia da figura do agente infrator
nos delitos ambientais, uma vez que o autor de uma infrao ambiental, via de regra,
no um elemento perigoso, pois, como podemos observar a exceo em razo de
crimes como o trfico de animais silvestres, a maior parte dos envolvidos pessoas
pertencentes a classes sociais menos favorecidas e que so usadas por uma
minoria que se beneficia com o objeto da prtica ilcita.
Deste modo, no a maioria que necessita ser submetida a um afastamento
do convvio social, embora, deva-se ressaltar, que, se submetido pena privativa de
liberdade, dever atender uma de suas finalidades, que a ressocializao, ou seja,
a recuperao do indivduo infrator, mas que se torna duvidosa, tendo em vista os
aspectos sociais de nossa nao.
Em relao responsabilidade penal da pessoa jurdica, consideramos
tratar-se de uma matria complexa e controvertida, que at a pouco tempo no tinha
a mnima aceitao no direito ptrio, e ainda reflete muitas crticas, porm, tendo em
vista o aumento das atividades realizadas por entes de personalidade jurdica que
agridem o meio ambiente, torna-se quase impossvel estabelecer a autoria do
88
agente, motivo pelo qual comeou a ser aceito a responsabilizao da pessoa
jurdica sob o prisma penal.
A crtica maior feita em relao a responsabilidade penal da pessoa jurdica,
reporta-se ao fato de que muitos doutrinadores no aceitam ser possvel tal
responsabilizao sem a presena do substractum humano, alegando ser condio
sine qua non, mas, apesar das severas crticas, tal inovao trouxe uma maior
efetividade na tutela do direito ambiental e maior segurana social.
Neste sentido, bem observa Benjamin (1993, p. 314), ao afirmar que: No
Brasil, o grande passo foi dado pela CF/88, que em seu art. 225, 3, estabeleceu
que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio-ambiente sujeitaro os
infratores, pessoas fsicas ou jurdicas, a sanes penais.
Em relao aplicao de sanes em razo das infraes das pessoas
jurdicas, devemos considerar, num primeiro plano, as condutas criminosas,
atentando-se inicialmente para algumas caractersticas que envolvem a infrao,
devendo ficar demonstrado que a mesma foi praticada face ao interesse da
sociedade, empresa ou ente despersonalizado, bem como, deve ficar evidenciado
que a infrao foi praticada no mbito de suas atividades, e, ainda, observada a
condio de que o ilcito tenha sido praticado com o auxlio ou adeso do poderio da
pessoa coletiva.
Por fim, em relao s sanes penais, considera-se como cabveis e
adequadas: as multas, a privao de direitos e vantagens, as interdies de
atividades bem como a publicao de sentenas.
7.5 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DO ESTADO
Podemos considerar que no Brasil nunca houve uma fase de
irresponsabilidade do Estado, embora isso tenha ocorrido em outros pases, pois,
em algum momento, mesmo com a falta de uma disposio legal especfica,
prevaleceu a tese da responsabilidade do Poder Pblico como um princpio geral e
fundamental de Direito.
89
Observa-se que os dispositivos anteriores, como a Constituio do Imprio
(1824), em seu art. 178, n 29, ou a Constituio Republicana (1891), em seu art.
79, que continham disposies idnticas, previam a responsabilidade dos
empregados pblicos por abusos e omisses praticados no exerccio de suas
funes, sendo que tais dispositivos jamais foram considerados como excludentes
da responsabilidade do Estado, e tampouco consideravam somente a
responsabilidade pessoal do funcionrio, pois, entendia-se haver solidariedade entre
o Estado em relao aos atos de seus agentes.
Ressalvamos, porm, que a responsabilidade considerada era fundada na
culpa civil, em que era indispensvel prova da culpa do funcionrio, sendo que o
Estado somente se responsabilizava se restasse provado ter o agente agido com
imprudncia, impercia ou negligncia.
No Brasil, o primeiro dispositivo legal que tratou especificadamente da
Responsabilidade Civil do Estado foi o art. 15 do Cdigo Civil de 1916 que diz: As
pessoas jurdicas de direito pblico so civilmente responsveis por atos dos seus
representantes que nessa qualidade causem danos a terceiro, procedendo de modo
contrrio ao Direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo
contra os causadores do dano.
Inicialmente, a doutrina que acabou firmando entendimento em relao
redao perceptivelmente ambgua desse dispositivo, foi no sentido de que teria sido
nele consagrado a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil.
Porm, ainda na vigncia do art. 15 do Cdigo Civil de 1916, alguns autores,
inspirados nas idias que prevaleciam na Frana e em outros pases europeus,
comearam a sustentar a tese da responsabilidade objetiva do Estado, at que,
surgiram as primeiras decises nos tribunais superiores, esboando nitidamente o
alcance da teoria do risco administrativo, notando-se que, tambm entre ns, a
responsabilidade objetiva do Estado chegou primeiro jurisprudncia para depois se
transformar em texto legal.
Atualmente a responsabilidade do Estado est disposta no art. 37, 6 da
CF/88 que possui a seguinte redao: As pessoas jurdicas de direito pblico e as
de direito privado prestadoras de servios pblicos respondero pelos danos que
90
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de
regresso contra o responsvel nos casos de dolo ou culpa.
No Brasil hodiernamente acolhida a teoria do risco administrativo, onde
conclumos, atravs do texto constitucional, que o Estado somente responder pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, ficando evidente
que, resta condicionada a responsabilidade objetiva do Poder Pblico ao dano
decorrente da sua atividade administrativa, ou seja, nos casos em que houver
relao de causa e efeito entre a atividade do agente pblico e o dano.
Dizemos ainda, que o Estado no responder pelos danos causados a
terceiros pelos seus servidores, quando estes no estiverem no exerccio de suas
funes, ou ainda, no estejam agindo em razo delas, bem como, no responder
quando o dano for decorrente de fato exclusivo da vtima, caso fortuito ou fora
maior, e por fim, por fato de terceiro, uma vez que tais fatores, por no serem
resultantes de atos dos agentes do Estado, excluem o nexo de causalidade.
8 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO
Remetendo-nos origem da palavra ecoturismo, extramos que a mesma
originria de um neologismo entre o prefixo eco derivado da palavra grega oikos
que significa casa, e a palavra de origem francesa turismo, que relaciona-se com
sentimento de prazer, usada pela primeira vez por Hector Ceballos na dcada de 80.
O Instituto de Ecoturismo no Brasil define a atividade como sendo
a prtica de turismo de lazer, esportivo ou educacional, em reas
naturais, que se utiliza de forma sustentvel dos patrimnios natural
e cultural, incentiva a sua conservao, promove a formao de
conscincia ambientalista e garante o bem estar das populaes
envolvidas.
8
Sabemos que o Ecoturismo desponta para o mundo como uma das
atividades mais promissoras das ltimas dcadas. evidente a viabilidade do
Ecoturismo como atividade econmica, responsvel por movimentar trilhes de
dlares em todo o planeta. Em contrapartida, este quadro de tamanha expectativa e
potencialidade tambm causa preocupao diante de seu crescimento sem
planejamento ante os possveis impactos ambientais, sendo certo considerar que:
O turismo, de modo geral, j a indstria civil mais importante do mundo. DE
acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (Worl Travel and Tourism
Council - WTTC), o turismo hoje a maior indstria do planeta [...]. A indstria do
turismo maior do que a do automvel, do ao, da eletrnica ou da agricultura
(LINDBERG; HAWKINS, 1995, p. 25).
Apesar dos benefcios econmicos, destacamos que a atividade do
Ecoturismo no pode ser desenvolvida na forma como vem sendo realizada em boa
parte dos pases do globo, inserindo-se nesse contexto o Brasil, tendo em vista que
8
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&conteudo=./ecoturismo/ec
oturismo.html, capturado em 12 de janeiro de 2006.
92
seu desenvolvimento deve estar alicerado em bases slidas, implementado atravs
de polticas de desenvolvimento sustentvel e de forma planejada.
No transcorrer deste captulo, poderemos observar que a atividade do
Ecoturismo representa, em linhas gerais, no apenas uma possibilidade de
desenvolvimento econmico, mas, uma oportunidade de se desenvolver uma
atividade econmica tpica de consumo, de forma a ser realizada com nfase na
proteo de bens ambientais, promovendo o chamado desenvolvimento sustentvel
pela utilizao racional dos recursos ambientais em seu intento.
8.1 ASPECTOS GERAIS
O Ecoturismo incorpora uma tendncia mundial no que tange a atividade do
turismo, evidenciando a necessidade e importncia do uso sustentvel dos
potenciais recursos do meio ambiente, inclusive nas manifestaes culturais,
enfocando em suas premissas, que o seu desenvolvimento deve ser pautado no uso
racional dos recursos ambientais, o qual dever ocorrer de forma planejada,
utilizando-se de critrios de sustentabilidade.
Seguindo a utilizao de tais critrios de sustentabilidade, a atividade do
Ecoturismo visa equilibrar e harmonizar fatores como resultados econmicos, aliado
a mnimos impactos ambientais e culturais, e ainda tendo como resultante, a
satisfao do pblico consumidor e da comunidade envolvida no desenvolvimento de
tal atividade.
Conforme se observa em estudos realizados pela World Turism Organization
(WTO), ou seja, pela Organizao Mundial do Turismo, a atividade do ecoturismo se
desenvolve na ordem de 5% do contingente total dos viajantes no globo, com
crescimento de mercado de 20% ao ano.
O fato que o grande desenvolvimento da atividade do Ecoturismo sem o
mnimo de planejamento maximiza os impactos negativos para os entes envolvidos,
ou seja, comunidade e meio ambiente, resultando assim, no agravamento dos
problemas scio-ambientais.
93
Deste modo, objetivando que o Ecoturismo se desenvolva de forma
sistmica e equilibrada, faz-se necessrio intentar aes conjuntas a serem
realizadas dentre as partes envolvidas das quais destacamos como sendo: os entes
dos rgos pblicos e privados em todos os mbitos e esferas, e ainda, a
comunidade, visando assim, realizar um planejamento de forma global, pautando as
iniciativas atravs de discusses, cujo objetivo buscar o consenso pelas diversas
partes envolvidas, levando-se em considerao os diversos interesses envolvidos.
Dentre estas aes necessrias, devemos destacar o levantamento dos
atrativos potenciais, incluindo nesta seara, o desenvolvimento de mtodos para se
determinar as condies de uso; envolvimento, esclarecimento, e a sensibilizao da
populao local; seguindo ainda esse critrio temos o estabelecimento de sistemas
de monitorao dos parmetros de preservao das reas afetadas; formao e
treinamento dos profissionais que prestaro servios como guias especializados e,
na hotelaria, priorizando a mo-de-obra local; e criao de uma base de dados, com
informaes sobre os empreendimentos existentes.
9
8.1.1 Fundamentos do ecoturismo
Inicialmente, destacamos que a atividade do Ecoturismo pauta-se na
utilizao racional e planejada dos recursos ambientais, sem que isso represente um
risco de prejuzo ao meio ambiente, visando, neste sentido, alcanar o sucesso no
desenvolvimento de uma atividade econmica tpica de consumo aliada
preservao do meio ambiente, e, deste modo, provendo desenvolvimento
sustentvel nas reas em que se desenvolver a referida atividade.
Neste sentido, estas premissas iniciais so observadas ao destacarmos a
definio da atividade do Ecoturismo pela Comisso Tcnica Embratur/Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), ao tratar das Reservas Particulares do
Patrimnio Natural, descrevendo que o Ecoturismo:
o turismo desenvolvido em localidades com potencial ecolgico,
de forma conservacionista, procurando conciliar a explorao
turstica com o meio ambiente, harmonizando as aes com a
9
html do arquivo http://www.bndes.gov.br/conhecimento/setorial/get4is10.pdf, capturado em 22/07/2003.
94
natureza, bem como oferecendo aos turistas um contato ntimo com
os recursos naturais e culturais da regio, buscando a formao de
uma conscincia ecolgica. O ecoturismo visa igualmente o
desenvolvimento das regies em que se insere, devendo ser um
instrumento para a melhoria da qualidade de vida as populaes que
acolhem essa atividade. Essa a definio formulada pela
Comisso Tcnica Embratur/Ibama.
10
Assim, evidenciamos que o desenvolvimento da atividade do Ecoturismo
deve ser fundado em algumas aes e princpios que devem ser buscados e
alcanados para seu sucesso, dentre os quais destacamos: o desenvolvimento do
turismo alicerado em base cultural e ecologicamente sustentvel; incentivo e
promoo de investimentos objetivando a conservao dos recursos naturais e
culturais utilizados no processo de desenvolvimento da atividade; traar como metas
a conservao do meio ambiente atravs da utilizao racional dos recursos
ambientais, reverter em prol da comunidade os benefcios materiais alcanados, de
modo que esses venham a servir de fonte de renda alternativa, eclodindo como
aliada nas aes conservadoristas do meio ambiente; promover com critrios de
mnimo impacto ambiental a gesto operacional a ser implementada, em que sua
realizao resulte num instrumento de proteo e conservao ambiental e cultural;
e, por fim, implementar instrumento de desenvolvimento par; a educao e
motivao ambiental, visando despertar a conscientizao ecolgica, para que todos
os entes envolvidos tomem cincia da importncia de se conservar o meio ambiente
e valores como a cultura de um povo e a natureza.
8.2 ECOTURISMO NO MUNDO
Em termos mundiais, o Ecoturismo configura uma atividade cujo segmento
apresenta um considervel crescimento sob o enfoque mercadolgico, tendo em
vista que a estimativa de crescimento mdio na ordem de 20% ao ano, como j foi
destacado, favorecendo seu desenvolvimento nos pases com significativas reservas
naturais, como os da Amrica Latina e frica, onde, principalmente no Brasil, tal
10
http://www2.ibama.gov.br/unidades/rppn/duvidas.html - capturado em 20/07/2003 .
95
atividade encontra amplo mercado para se desenvolver, tendo em vista que
possumos a maior diversidade biolgica do mundo.
Face estimativa do faturamento anual com a realizao da atividade do
Ecoturismo no mundo, destacamos que sendo o setor bem desenvolvido, tal
situao reverter em uma possibilidade de desenvolvimento, em que devero ser
aliadas a conservao e preservao do meio ambiente, com a obteno de retorno
econmico, cujo impacto assim vislumbrado:
O turismo internacional uma exportao invisvel, no sentido de que
cria um fluxo de moeda estrangeira para a economia de um pas de
destino e com isso contribui diretamente para a situao das
balanas de pagamentos. Como outras indstrias de exportao,
esse influxo de renda gera faturamento nas empresas, emprego,
renda familiar e receita governamental (THEOBALD, 1998, p. 87).
Corroborando no mesmo sentido, extramos que os nmeros do turismo so
expressivos. Aproximadamente 204 milhes de pessoas trabalham no turismo no
mundo inteiro, representando cerca de 10,6% da mo-de-obra ativa do planeta,
segundo John Naisbitt. Ainda complementa que o turismo movimenta em torno de
3,4 trilhes de dlares/ano, gerando cerca de US$655 bilhes de dlares em
impostos, sendo responsvel por 10,9% dos gastos em consumo geral; 10,7% dos
investimentos de capital e 6,9% dos gastos de governos.
vlido destacar que o desenvolvimento da atividade turstica vem trazendo
vantagens econmicas para pases como o Mxico, Qunia Tunsia e Marrocos,
pases estes cuja principal caracterstica o subdesenvolvimento, o que causa certo
furor quando h a possibilidade de ganho econmico, mas que, neste caso, resulta
em fatores negativos como os impactos no meio natural e scio-cultural que ocorrem
por se desenvolverem sem um mnimo de planejamento e de forma quase emprica.
J percebemos pelo que foi evidenciado, que a atividade do Ecoturismo a
ser realizada de forma no planejada resultar em danos scio-ambientais de
grandes propores, os quais no podero justificar-se em entendimento equivocado
frente aos impactos positivos resultantes desta atividade, como a diversificao da
economia regional e local, gerao de empregos, fixao da populao no interior,
dentre outros, sem que ocorra minimamente a preocupao com os nus
ambientais.
96
Assim, destacamos que a atividade do Ecoturismo em qualquer parte do
mundo deve ser desenvolvida de forma racional e planejada, levando-se em
considerao o meio ambiente, haja vista, que a atividade esta alicerada no
princpio do desenvolvimento sustentvel, onde, no ocorrendo dessa forma,
resultar na nica possibilidade possvel que a do fracasso no setor, ainda que
isso venha a ocorrer em mdio prazo, tendo em vista que o principal objeto para o
desenvolvimento da atividade, que so os recursos naturais, poder ser esgotado.
8.2.1 A avaliao do setor turstico pelo parlamento europeu
O crescente e promissor mercado da atividade do turismo no mundo
mereceu um estudo aprofundado pelo Parlamento Europeu, para que se pudesse
melhorar o segmento mercadolgico deste setor, principalmente no que se refere ao
sentido de sustentabilidade, desenvolvendo medidas mais adequadas ao turismo na
Europa.
A grande questo acerca do estudo realizado se refere problemtica do
crescimento do segmento industrial somado s elevadas expectativas de sua
capacidade de gerar empregos na Europa, sem que isso resulte em custos
ambientais e sociais adicionais, ou, ainda, somar a esses fatores, a possibilidade de
contribuir de forma positiva para o alcance de melhorias sociais e ambientais.
Concluiu-se ento que era necessria a implantao de um quadro poltico
de forma global e mais coerente em razo do turismo na Europa, de modo a garantir
que o setor se desenvolva de uma forma sustentvel, envolvendo o referido quadro
poltico com o compromisso da Unio Europia de seguir pautada numa estratgia
de desenvolvimento global sustentvel.
O estudo sobre o quadro da atividade turstica ainda demonstrou que
existem trs reas principais onde o apoio da Unio Europia atualmente est
incidindo com maior impacto, bem como, onde ser necessria a implementao de
melhorias no futuro.
Podemos assim destacar a aplicao de fundos estruturais ao desenvolvimento
de destinos tursticos e infra-estrutura dos destinos integrados; a ecologizao da
97
cadeia de distribuio do turismo, assegurando que as empresas responsveis pelo
oferecimento de servios e produtos o faam de forma sustentvel; e a criao de
fluxos de informaes melhorados, visando garantir para todos os envolvidos o
conhecimento e os meios com vistas atuao de forma sustentvel.
Assim possvel identificar as poes para introduo de melhorias na
poltica em duas reas principais: a primeira delas relaciona-se com questes
temticas, e a segunda refere-se aos mecanismos e processo subjacentes, que
podemos considerar para efeitos didticos, os quais destacamos como Questes
prioritrias para o turismo sustentvel na Europa, e, Mecanismos subjacentes para a
gesto das questes prioritrias.
11
8.2.1.1 Questes prioritrias
A avaliao realizada para o setor de turismo sustentvel na Europa conclui
que existem algumas questes que merecem prioridade, sendo estas assim
consideradas: medidas para encorajar as boas prticas ambientais nos destinos
tursticos; promoo do turismo em stios e zonas naturais e de patrimnio cultural;
tornar empresas de turismo mais sustentveis; e, sensibilizar a opinio pblica.
Assim, podemos destacar que, em vista da minimizao dos efeitos
adversos ao ambiente e nas comunidades locais, e, tambm a garantia de
benefcios decorrentes do turismo, a gesto do turismo realiza-se melhor ao nvel
dos destinos, onde os processo melhorados da gesto de destinos so essenciais
para o turismo sustentvel.
12
Certo que podemos entender como sendo nveis de destino, os fatos
positivados que surgem das tenses observadas e oriundas entre as atividades do
ser humano e os limites naturais do meio ambiente, e dentre essas gestes de
destinos, merecem ser mencionadas as seguintes: gesto integrada de qualidade
(GIQ); Agenda Local 21, Ordenamento do territrio e controle de desenvolvimento;
Aplicao de avaliaes ambientais estratgicas e de avaliaes de impacto
ambiental; gesto integrada da Zona Costeira (GIZC).
11
http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/summaries/stoa103sum_pt.pdf, capturado em 25/07/2003
12
Idem.
98
Como podemos concluir, vrias foram as medidas determinadas no sentido
de encorajar as boas prticas ambientais, mas no sero abordadas a fundo, visto
que no possuem maiores relevncias ao tema do trabalho.
Num segundo aspecto, temos a promoo do turismo em stios naturais e de
patrimnio cultural, sendo assim evidenciado no referido estudo:
A interaco entre natureza, cultura e turismo um tema constante,
que fornece o enquadramento e os componentes da experincia do
visitante. O patrimnio cultural exprime as caractersticas da
identidade regional, a sua histria, tradies e civilizao. O
patrimnio natural exprime o seu cenrio paisagstico e a sua
biodiversidade - os seus diferentes habitats e a variedade da fauna e
da flora. O turismo sustentvel considerado como um meio para
aproveitar ao mximo as diferentes naturezas e patrimnios da
Europa.
13
Neste diapaso, concluiu-se que a atividade turstica poderia vir a se tornar
uma fora econmica e social mais forte, com potencialidade de desenvolvimento de
forma simultnea, com a criao de emprego por toda Europa e com programas e
polticas de conservao das identidades regionais, e assim, os segmentos
mercadolgicos do turismo natural e cultural configurariam fatores de importncia
estratgica para o desenvolvimento sustentvel, destacando-se, ainda, o dilogo
inter-cultural da Unio Europia.
Com isso, restou a elaborao bem sucedida de polticas em razo do
turismo e dividida em temas diferentes, inter-relacionados entre si, que configuram: o
Turismo em zonas protegidas - Natura 2000; Turismo Rural; Ecoturismo, e, Turismo
em stios de patrimnio cultural, sendo que, para nosso interesse, evidenciaremos
apenas o que tange ao Ecoturismo.
Em relao ao Ecoturismo, podemos concluir que esta atividade na Europa
abrange a questo do turismo em zonas protegidas, podendo ainda ser desenvolvida
de forma sustentvel atravs de polticas que incidem nas empresas de turismo que
oferecem esse tipo de produto, em que temos a considerar, como disposio no
relatrio apresentado pelo Parlamento Europeu, que:
A OMC e o PNUA declararam 2002 o Ano Internacional do
Ecoturismo. O ecoturismo pode ser definido, de uma forma geral,
13
Idem.
99
como turismo de pequena escala, sustentvel, baseado na natureza,
por oposio ao turismo na natureza, que pode ser ou no em
pequena escala ou sustentvel. Uma vez que este segmento de
mercado da indstria do turismo liga directamente o turismo
natureza, de especial preocupao para ambos a proteco e a
utilizao da biodiversidade como um recurso para gerar emprego. O
ecoturismo europeu est, actualmente, subdesenvolvido e tem de
competir, a nvel internacional, com destinos bem mais exticos.
Contudo, muitas zonas costeiras e de montanha so extremamente
atractivas e suficientemente nicas para garantir cada vez mais
clientes.
14
Outro aspecto importante para o desenvolvimento do turismo na Europa e
componente do relatrio descrito refere-se necessidade de se realizar a maior
sustentabilidade das empresas de turismo, onde disposto que:
O debate sobre a dimenso e a diversidade do sector do turismo e a
introduo do modelo de cadeia de oferta turstica, apresentados
anteriormente no presente relatrio, demonstram a complexidade de
influenciar os diferentes actores intervenientes na indstria atravs
da elaborao de polticas comunitrias. No entanto, o
comportamento dos actores intervenientes na indstria constitui um
elemento-chave do movimento global em direco a um ambiente
sustentvel. Dos operadores tursticos mundiais s agncias de
viagens locais, dos fornecedores internacionais de produtos aos
fornecedores de servios locais, das cadeias hoteleiras globais aos
hotis familiares, das cadeias internacionais de restaurantes aos
vendedores de sanduches de esquina de rua, a gama de empresas
de turismo vasta. Por conseguinte, essencial fornecer informao
e programas especficos a estes grupos.
15
Dentre os meios para alcanarmos o objetivo de tornar uma empresa de
turismo mais sustentvel, destacamos quatro reas, que no sero abordadas neste
trabalho de forma mais abrangente, mas que merecem ser mencionadas, sendo
elas: a informao e consultadoria; a formao; as marcas e rtulos de qualidade; e,
os incentivos financeiros.
Por fim, temos como uma das questes prioritrias para o desenvolvimento
do turismo de forma sustentvel na Europa, o fator de sensibilizao do pblico, que
remete necessidade de uma maior conscientizao ambiental e social, visando
garantir um sistema global de regulamentao do desenvolvimento sustentvel,
sendo sua importncia assim determinada:
14
Idem.
15
Idem.
100
[...] As questes em matria de sensibilizao do pblico, de
informao e de consultadoria sobre desenvolvimento sustentvel
ajudam a desenvolver uma estratgia em termos de sustentabilidade,
que constitui, em si prpria, uma mudana paradigmtica da
conscincia tradicional do consumidor e das empresas: a anterior
estratgia procura equilibrar os interesses sociais e ambientais do
conjunto com o lucro/desenvolvimento econmico pessoal, enquanto
esta ltima confere prioridade ao lucro/desenvolvimento econmico
pessoal relativamente s preocupaes sociais e ambientais.
16
8.2.1.2 Mecanismos gestores
Comentaremos sucintamente os mecanismos apontados pelos estudos
realizados em funo do turismo na Europa, considerando que para o nosso
trabalho, interessa apenas as linhas gerais do que foi pauta de discusso no
Parlamento Europeu para o referido setor.
O primeiro mecanismo a ser destacado refere-se necessidade de
implementao do desenvolvimento de uma estratgia global de turismo sustentvel
para a Unio Europia, visando a orientao e integrao dos programas
comunitrios.
Isso significa que a falta de um enquadramento geral da poltica em matria
de turismo limitou o desenvolvimento sustentvel nos pases da Unio Europia,
haja vista que os programas destinados gesto de programas de desenvolvimento
do turismo, por ter sido regionalizados, resultaram num cenrio pluralista e pouco
inter-relacionado, sendo que muitas vezes, encontravam-se divergentes entre si.
Outro fator sobre os mecanismos de gestores para uma poltica global do
setor de turismo na Unio Europia refere-se ao reforo dos sistemas de apoio a
informaes, em que boa parte desta problemtica deriva-se da falta de importncia
poltica nas atividades de investigao e dos diferentes requisitos no que tange a
informaes, visando o planejamento sustentvel.
A ausncia de qualquer investigao sobre os tais sistemas e componentes
de informao, somados ausncia de apoio, a deciso que pode alicerar o
processo turstico de forma sustentvel e, at mesmo o prprio desenvolvimento
16
Idem.
101
sustentvel, tem como conseqncia o impedimento de elaborao de poltica,
sendo observada que tal situao merece ateno imediata, caso o objetivo da
Unio Europia em relao ao setor turstico, seja por um movimento global e
sustentvel, caminhando assim, para tornar este objetivo uma realidade.
Por fim, iremos abordar o terceiro mecanismo evidenciado pela Unio
Europia para a implementao de uma poltica de desenvolvimento sustentvel
para o setor de turismo que destaca a necessidade de se reforar o desenvolvimento
e o intercmbio de conhecimentos atravs de redes, sendo assim considerado:
A falta geral de coerncia poltica para orientar um processo de
turismo sustentvel acompanhada por uma falta semelhante em
termos de plataforma de intercmbio de conhecimentos em rede em
direco a um turismo sustentvel. O turismo e o processo de
emprego requerem uma melhoria da utilizao e da capacidade da
tecnologia, no sentido de informar a indstria do turismo sobre como
desenvolver negcios de forma mais sustentvel. As redes, tcnicas
e de gesto, so encaradas como a melhor forma de organizar e
divulgar os conhecimentos necessrios comunidade do turismo.
17
8.3 ECOTURISMO NO BRASIL
Inicialmente, devemos fazer uma abordagem sobre um dos principais fatores
preponderantes para o desenvolvimento da atividade do Ecoturismo no Brasil, que
refere-se a rica biodiversidade encontrada em territrio brasileiro, fator que contribui
para o pas figurar como o maior possuidor de riquezas e diversidades naturais do
mundo.
Destacamos ainda, como outro fator preponderante para o desenvolvimento
da atividade do Ecoturismo no Brasil, a extenso territorial, haja vista que pela sua
dimenso, o pas atinge vrias regies equatoriais, caracterizando-se por diversos
climas e geomorfologias.
Diante disso, o Ecoturismo passou a se destacar no mercado nacional, em
meados dos anos 80, devido exploso da demanda e oferta do turismo
sustentvel, que apesar de j ser desenvolvido de forma emprica, com pouco ou
nenhum planejamento, comeou a chamar a ateno das autoridades
17
Idem.
102
governamentais, que comearam a definir programas especficos para o segmento,
tendo como primeiro objeto, realizado no ano de 1987 pela Embratur, o denominado
Projeto Turismo Ecolgico, o qual no prosperou.
Sabe-se que o Brasil possui um imenso potencial mercadolgico para
desenvolver a atividade ecoturstica, como exemplo, a regio amaznica, a regio
litornea, o Pantanal, os Campos do Sul, dentre outras.
Contudo, em decorrncia da falta de planejamento racional interno, polticas
racionais e aplicabilidade do conjunto normativo vigente, ficamos praticamente de
fora deste mercado altamente promissor, que realizado de forma adequada e sob
critrios de sustentabilidade, resultada no desenvolvimento da economia e contribui
com a preservao e conservao das espcies, como o conjunto da extica fauna
brasileira. Nesse sentido temos sobre o nosso conjunto turstico:
de experincia diria que as cidades histricas, os monumentos
artsticos, arqueolgicos e pr-histricos, as paisagens notveis, os
lugares de particular beleza, as reservas, os parques e as estaes
ecolgicas, as localidades e os acidentes naturais grandiosos
exercem particular atrao, tanto sobre os nativos, quanto para
visitantes (PINTO, 1999, p. 21).
Em contrapartida a essa situao pouco desenvolvida e desordenada em
que se encontra o turismo brasileiro, temos como fato positivo um conjunto de
fatores que podem proporcionar o desenvolvimento e o sucesso desta atividade.
Dentre esses fatores, temos as Unidades de Conservao em que
permitida a visitao pblica, oferecendo uma rica diversidade cultural, bem como
condies para o desenvolvimento do ecoturismo no Brasil.
Neste contexto, destacamos as reas protegidas, os Parques Nacionais,
Estaduais e Municipais, as Florestas Nacionais, e as reas de Proteo Ambiental -
APA's, que so locais propcios para se desenvolver o ecoturismo, tanto no mbito
nacional como internacional.
Sabemos que a grande parte dos ecoturistas, em particular os estrangeiros,
procuram por roteiros onde exista uma infra-estrutura adequada, com reas
preservadas e de alto valor ecolgico e cultural, e ainda, com a disponibilidade de
recursos humanos capacitados com guias bem treinados.
103
Evidenciamos como principais problemas no Brasil para o desenvolvimento
do ecoturismo, resumidamente como: a falta de critrios tcnicos, regulamentaes
e incentivos para fomentar e garantir a atividade; precauo em razo do risco de
comprometimento da imagem do produto ecoturstico, principalmente em funo da
falta de infra-estrutura; grande potencialidade de danos ambientais; nmeros
insuficientes de nmero de Unidades de Conservao Ambiental (UCAS); gesto
das UCAs existentes; e, alijamento das populaes locais no processo de
desenvolvimento da atividade.
Podemos definir como potenciais positivos do ecoturismo, que podem ser
definidos como sendo: a diversificao cultural; a possibilidade de gerao de
empregos; a fixao da populao no interior; melhoria da infra-estrutura para
recebimento dos turistas e desenvolvimento da atividade; gerao de recursos para
manuteno, criao e implementao das UCAs; e, reduo de impacto ambiental
atravs da utilizao racional dos recursos ambientais.
Evidenciamos como as principais necessidades para o desenvolvimento do
setor: o correto dimensionamento do fluxo de turistas; a implantao de infra-
estrutura adequada; e, o respeito pela cultura local aliado conscientizao
ecolgica.
Certo que, nos dias atuais, a atividade ecoturstica tem recebido maior
ateno em nosso pas, recebendo tratamento diferenciado das autoridades
nacionais responsveis pelo setor.
Destacamos no caminho evolutivo para o desenvolvimento do setor do
turismo sustentvel no pas, a formao de um Grupo de Trabalho organizado pelo
Ministrio da Indstria, do Comrcio e do Turismo em conjunto com o Ministrio do
Meio Ambiente e da Amaznia Legal, no ano de 1994, em Gois Velho-GO, grupo
esse que foi constitudo por tcnicos da Embratur, especialistas e empresrios do
setor, visando definir, alm de um conceito de ecoturismo, tambm as Diretrizes
para uma Poltica Nacional do Ecoturismo.
Extraiu-se dos estudos realizados, os objetivos bsicos a serem alados
com a implementao de uma Poltica Nacional do Ecoturismo, os quais visam:
compatibilizar as atividades de ecoturismo com a conservao de reas naturais;
104
fortalecer a cooperao interinstitucional; possibilitar a participao efetiva de todos
os segmentos atuantes no setor; promover e estimular a capacitao de recursos
humanos para o ecoturismo; promover, incentivar e estimular a criao e melhoria
da infra-estrutura para a atividade de ecoturismo e promover o aproveitamento do
ecoturismo como veculo de educao ambiental.
18
Assim, extramos que:
A partir desta definio e aliados aos conceitos desenvolvidos por
diversos especialistas internacionais, definiu-se os princpios e
critrios a serem adotados pelo ecoturismo (Projeto OCE - Oficinas
de Capacitao em Ecoturismo, 1994), que permitem sua
identificao diferenciada perante o turismo convencional,
consagrando conceitos e prticas que vem sendo adotadas tambm
por parte do empresariado do turismo convencional, tornando-se
tendncias que deveriam ser seguidas por qualquer atividade
turstica responsvel.
19
De outro modo, tambm foi evidenciado no estudo realizado pela equipe
tcnica mencionada, os princpios bsicos que deveriam nortear o desenvolvimento
da atividade do Ecoturismo, quais sejam:
a Conservao e uso sustentvel dos recursos naturais e culturais;
Informao e interpretao ambiental; um negcio e deve gerar
recursos; deve haver reverso dos benefcios para a comunidade
local e para a conservao dos recursos naturais e culturais; deve ter
envolvimento da comunidade local.
20
Por fim, para que a atividade do Ecoturismo se desenvolva plenamente
dentro dos objetivos e princpios elencados, a mesma deve ocorrer dentro de alguns
critrios, destacando-se:
a) Manejo e administrao verde do empreendimento; b)
Associaes e parcerias entre os setores governamentais e no
governamentais locais, regionais e nacionais; c) Educao Ambiental
para o turista e para a comunidade local; d) Guias conscientes,
interessados e responsveis; e) Planejamento integrado, com
preferncia regionalizao; f) Promoo de experincias nicas e
inesquecveis em um destino extico; g) Monitoramento e avaliao
18
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&conteudo=./ecotu
rismo/artigos/conceitos.html, capturado em 12 de janeiro de 2006.
19
Idem
20
Idem
105
constante; h) Turismo de baixo impacto; i) Cdigo de tica para o
mercado do ecoturismo.
21
No Brasil, a Embratur em conjunto com o Instituto de Ecoturismo do Brasil,
mapeou as reas para desenvolvimento da atividade ecoturstica, dividindo-as em
Plos de Desenvolvimento de Ecoturismo.
Podemos afirmar que a realizao da atividade do Ecoturismo comea a
tomar propores grandiosas, trazendo eminentes preocupao para os governantes
e para parte da sociedade civil organizada.
Seguindo esta linha, a preocupao do governo com o desenvolvimento da
atividade ecoturstica, reverteu-se em diversas medidas, como por exemplo, a
iniciativa do Ministrio do Esporte e Turismo que assinou um convnio visando a
liberao de recursos para implementao do projeto Plo de Ecoturismo do Brasil,
onde sero implantados em primeiro plano, 14 plos em todas as regies do pas.
O projeto em questo, denominado Projeto Plos de Desenvolvimento de
Ecoturismo no Brasil, identificou localidades brasileiras aonde o ecoturismo vem se
desenvolvendo, elaborando um inventrio em que constam as caractersticas, as
potencialidades e a situao das infra-estruturas existentes. Para isso foram levantados
96 plos de ecoturismo, os quais foram divididos pelas cinco regies brasileiras.
Destaca-se que
o conceito de Plo de Ecoturismo vai alm da diviso meramente
poltica de estados ou municpios. Para a Embratur, so
considerados Plos de Ecoturismo as reas onde as atividades
ecotursticas j vm sendo desenvolvidas com sucesso, promovidas
por um nmero vivel de agentes, ou em locais com potencial para
esse tipo de turismo. Os plos foram mapeados por ecossistemas, e
por isso no necessariamente obedecem s delimitaes dos
estados
22
.
Podemos concluir, ento, que a atividade do Ecoturismo deve se
desenvolver pautada na promoo de programas srios, viveis e eficientes,
buscando conceber infra-estrutura segura e profissional com pessoas
21
Idem
22
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&conteudo=./ecotu
rismo/polos_ecoturismo.html, capturado em 12/01/2006.
106
especializadas. Buscar tambm, o envolvimento da populao para desenvolver a
conscientizao ecolgica atravs da prtica da educao ambiental, bem como,
levar ao turista, o despertar do sentimento de preservao do meio ambiente como
necessidade para alcanar o objetivo da sadia qualidade de vida.
9 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO EM NOSSO ORDENAMENTO
JURDICO
No que tange ao Ecoturismo, temos em relao ao conjunto jurdico
normativo aplicado a atividade, um importante aspecto para propiciar a realizao
desta atividade.
Considerando-se a necessidade de que a atividade do Ecoturismo deve ser
realizada alicerada no planejamento e no desenvolvimento de forma sustentvel, ou
seja, com o desenvolvimento econmico pautado na utilizao racional dos recursos
ambientais disponveis, ressaltamos que os responsveis por esta rea lidam de
forma contnua com os bens ambientais, que por sua caracterstica fragilidade e
complexidade, em caso de degradao, podem resultar na responsabilizao dos
entes envolvidos, tanto na esfera civil, penal e, ou administrativa como j vimos em
captulo anterior.
Ademais, o perecimento destes bens ambientais amplamente ligados
atividade do Ecoturismo, resultar no insucesso da atividade, com prejuzos
econmicos, sociais e ambientais para todos e muitas vezes de forma irreversveis.
Veremos nos prximos captulos que a atividade do Ecoturismo possui uma
satisfatria regulamentao em nosso ordenamento jurdico, sendo regida pelos
princpios norteadores do Direito Ambiental, sob o prisma de aspectos
constitucionais e infraconstitucionais.
Consideramos como ponto inicial para o desenvolvimento de nosso trabalho
a confeco das Diretrizes para uma Poltica Nacional de Ecoturismo, realizada em
1994 pelo Grupo de Trabalho Interministerial, sob a organizao do ento Ministrio
do Meio Ambiente e da Amaznia Legal, em conjunto ao Ministrio da Indstria, do
Comrcio e do Turismo, quando foi realizado um amplo diagnstico sobre a
108
atividade em questo, e levantadas as questes problemticas sobre o Ecoturismo
bem como propostas de solues.
Resumidamente, os problemas apontados foram: a) falta de critrios,
regulamentaes e incentivos; b) risco de comprometimento da imagem do produto
ecoturstico em funo da falta de infra-estrutura; c) potencialidade grande de danos
ambientais; d) insuficincia do nmero de Unidades de Conservao Ambiental -
UCAs; e) gesto das UCAs existentes; f) alijamento das populaes locais.
23
Entretanto, os potenciais positivos do Ecoturismo apontados pelo Grupo de
Trabalho, resumidamente, foram os seguintes: a) diversificao cultural; b) gerao
de empregos; c) fixao da populao no interior; d) melhoria da infra-estrutura; e)
gerao de recursos para manuteno das UCAs; f) impacto ambiental reduzido.
24
Foram tambm apontadas as principais necessidades em relao
atividade do Ecoturismo no Brasil, sendo configuradas como a real dimenso do
fluxo de turistas, a necessidade de se implantar uma infra-estrutura adequada para a
realizao da atividade, e ainda, a educao ambiental que objetivam o respeito e a
conservao da cultural local.
Pode-se evidenciar, enfim, que nosso ordenamento jurdico comporta alguns
instrumentos importantes para a viabilizao da atividade do Ecoturismo e da
preservao ambiental, e que, a atividade do Ecoturismo representa, em linhas
gerais, uma atividade econmica tpica de consumo, por considerarmos que um de
seus principais fundamentos evidenciado como sendo o da explorao do turismo
visando a obteno de lucro com a atividade, e, portanto, deve ser amparado em
nosso ordenamento por diretrizes normativas que regem, principalmente, o direito
ambiental, do consumidor, e, de forma geral, a ordem econmica, que leva em
considerao que tais atividades devem estar respaldadas de responsabilidade
social.
23
http://www.rio.rj.gov.br/pgm/publicaoes/Ecoturismo.pdf, capturado em 20/07/2003
24
Idem
109
9.1 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO E OS PRINCPIOS CONSTITUCIONAIS
Temos consagrado no ordenamento jurdico brasileiro, todos os princpios
norteadores do Direito Ambiental, insertes na ordem jurdica interna principalmente
em razo do artigo 225 da CF/88, sendo considerados fundamentais nos sistemas
poltico-jurdicos dos Estados Civilizados, sendo adotados internacionalmente.
Tais princpios norteadores indicam o caminho protetor das normas
ambientais adequado realidade e valores culturais de cada Estado e de seu povo.
Nesse sentido, extramos que a atividade do Ecoturismo eclode como uma das
atividades relacionadas ao meio ambiente, aliando o interesse econmico, onde
ocorre explorao de atividade econmica de forma conjunta com a conservao e
preservao da natureza.
Por ser o Ecoturismo, uma atividade econmica tpica de consumo, num
contexto geral, possui sua base constitucional em nossa Carta Magna em
decorrncia do que encontramos no Captulo VI do Titulo VIII, que dispe sobre o
Meio Ambiente, o que j se faz suficiente para regrar a atividade descrita, haja vista
que em sua observncia concreta os bens ambientais estariam sendo preservados.
Em razo dos direitos dos consumidores, traz tambm nosso ordenamento
jurdico constitucional, insertes em seu contexto, a consagrao de princpios que
chancelam o Direito do Consumidor, os quais tambm so imprescindveis para o
desenvolvimento da atividade do Ecoturismo, tendo em vista que esta direcionada
ao turista, e por ser uma atividade tpica de consumo, coloca o mesmo na condio
de consumidor.
Seguindo as linhas gerais do Direito Ambiental Brasileiro, nos ditames do
artigo 225 da CF/88, encontramos em seu contexto, o meio ambiente
ecologicamente equilibrado como um direito de todos, imbuindo a toda a sociedade
e ao Poder Pblico o dever de sua defesa, imputando a incumbncia de zelar pelos
ecossistemas, visando preservar a diversidade biolgica e integridade do patrimnio
gentico do Pas, devendo ater-se proteo especial de determinados sistemas,
realizando o controle ambiental atravs da outorga de licenas e efetivando a
fiscalizao do meio ambiente e, em caso da ocorrncia de dano ambiental, dever
buscar a responsabilizao dos agentes degradantes e a efetiva reparao do dano.
110
Somando-se a estas linhas gerais do Direito Ambiental, evidenciamos a
determinao constitucional que aduz ser competncia da Unio, Estados, Distrito
Federal e Municpios o dever de promover e incentivar a realizao do Turismo,
sendo este considerado fator de desenvolvimento social e econmico, conforme
extramos do preceito institudo no artigo 180 da Constituio Federal vigente.
Aos fatores constitucionais j mencionados, podemos somar ainda o
contexto do artigo 170, inciso V da CF/88, que compe o Captulo I, que versa sobre
os Princpios Gerais da Atividade Econmica, e pertence ao Ttulo VII que trata da
Ordem Econmica e Financeira, destacando que a ordem econmica, fundada na
valorizao do trabalho da livre iniciativa, visa assegurar a todos, existncia digna,
observados os ditames da justia social, regidas, dentre outros princpios, pela
defesa do meio ambiente. Contudo, tal entendimento complementa-se por outros
princpios ali destacados, sendo eles: o da soberania nacional; propriedade privada;
funo social da propriedade; reduo das desigualdades sociais; dentre outros, que
de forma direita ou indireta, possui estreita ligao com a atividade do Ecoturismo.
Contudo, reforamos a sutileza de nosso arcabouo constitucional em razo
da atividade do Ecoturismo, evidencia-se o artigo 215 e 216, caput e inciso V, onde o
primeiro prescreve dentre suas funes, o da garantia a todos pelo Estado do pleno
exerccio dos direitos culturais e acesso s fontes da cultura nacional; e o segundo,
a incumbncia de definir em linhas gerais que, constituem o patrimnio cultural
brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, dentre os quais os conjuntos
urbanos e stios de valor histrico, paisagstico, artstico, arqueolgico,
paleontolgico, ecolgico e cientfico, sendo observado que, ao pensarmos no objeto
da atividade em questo, configuram adequado potencial ecoturstico.
Assim, ressaltando que j abordamos os aspectos da responsabilizao
advinda dos danos ao meio ambiente, os quais, como outra atividade econmica
qualquer que se utiliza os recursos ambientais, poder levar os agentes
responsveis a serem responsabilizados na esfera administrativa, penal e civil,
considerando que no diferem de qualquer outra atividade que possua relao com
o meio ambiente, vislumbramos que o aparato constitucional aplicado atividade do
turismo ecolgico se apresenta de forma bastante satisfatria.
111
Para melhor entendermos a questo, consideramos a existncia de
princpios de Poltica Nacional do Meio Ambiente e princpios relativos a uma Poltica
Global do Meio Ambiente, de onde extramos que tais princpios moldam a
concepo fundamental e a poltica procedimental de racionalidade de proteo do
meio ambiente, envolvendo importantes questes acerca da atividade do
Ecoturismo.
Destacamos que os princpios da poltica global do meio ambiente, foram
inicialmente formados na Conferncia de Estocolmo em 1972, ampliados na ECO-92
e ratificados na Joanesburgo 2002, vindo a aperfeioar-se continuamente, sendo
fundamentos genricos e diretores utilizados na proteo ao meio ambiente.
J os princpios da poltica nacional do meio ambiente so os enforcement
ou implementaes destes princpios globais resultantes de adaptaes feitas em
cada pas em razo de sua realidade cultural e social, sempre se pautando na ampla
defesa e proteo do meio ambiente.
Vrios so os princpios globais consagrados na Rio/92, mas, vale destacar
alguns deles que se fazem mais atuantes em razo da atividade do Ecoturismo,
como o Princpio 1 que visa assegurar o direito dos seres humanos a uma vida
saudvel e produtiva, em harmonia com a natureza.
Temos ainda, o Princpio 3 o qual determina que o direito ao
desenvolvimento deve ser positivado levando-se em considerao a preservao e
uso eqitativo para as presentes e futuras geraes, bem como, vlido ressaltar o
Princpio 7, que trata da proteo e reparao da sade e integridade do
ecossistema terrestre.
Contudo, didaticamente neste trabalho, em razo de seus objetivos, iremos
abordar os aspectos internos de nosso ordenamento jurdico em relao aos
princpios, ou seja, faremos referncia aos princpios inerentes atividade do
Ecoturismo e que so encontrados em razo da matria ambiental e do consumidor.
Neste sentido, sero observados os princpios que so pertinentes
exclusivamente a cada matria destacada, ou, os princpios que so comuns rea
ambiental e do consumidor, e ainda, princpios que so comuns a todos os
denominados direitos difusos e coletivos.
112
9.1.1 Princpio da funo scio-ambiental da propriedade
A evoluo percebida em razo do contexto sobre o direito de propriedade,
vem sendo delineada num contexto mais social e coletivo durante o transcorrer dos
sculos, como tambm se percebe em decorrncia do prprio Direito.
Assim, a concepo de propriedade no que tange a sua funo, aps o
surgimento dos denominados Direitos Difusos e Coletivos, evidencia a concepo da
propriedade como sendo um direito fundamental que j no admite entendimento
como um direito a ser exercido de forma ilimitado e inatingvel, tendo em vista que se
apresenta na ordem ftico-jurdica condicionada ao bem-estar social.
Neste sentido, a concepo individualista trazida no contexto do Cdigo Civil
de 1916, encontrava-se ultrapassada, pois servia a uma sociedade agrria e rural,
no possuindo mais espao na sociedade contempornea, haja vista a sociabilidade
progressiva a que nos remetemos.
Conseqentemente, o novo diploma civil consagra a funo ambiental dentre
as funes da propriedade, significando que, a propriedade no vem a perder o
carter privatstico, ao contrrio, devido a sua socializao, torna-se mais
abrangente e direcionada para o coletivo, maximizando assim, sua utilidade, de
forma que o coletivo direciona o individual.
Tal fato nos leva a destacar que a referida funo social e ambiental da
propriedade no reluz apenas sobre a propriedade rural, mas que abrange tambm
a propriedade urbana, sendo que primeira encontra embasamento na CF/88 em
razo de seu artigo 182, 2, a qual cumprida quando realizada as exigncias
fundamentais de organizao das cidades preconizadas no Plano Diretor.
J a segunda, ou seja, a funo social da propriedade urbana alicerada
com base no artigo 186, caput, de nossa Carta Constitucional, sendo cumprida
quando realiza de forma adequada, dentre outros requisitos, a utilizao dos
recursos naturais disponveis e a preservao ambiental.
Destacamos que a funo scio-ambiental da propriedade no se resume a
um simples limite relacionado ao exerccio do direito de propriedade, que resultaria
na possibilidade do proprietrio fazer aquilo que no viesse a prejudicar a
113
coletividade e o meio ambiente, ao contrrio, sua abrangncia maior devido ao fato
de que a referida funo, alm de autorizar, em sendo necessrio, tem o condo de
impor ao proprietrio comportamentos positivos em funo de seu exerccio,
objetivando enquadrar, de forma concisa, a propriedade na preservao do meio
ambiente. Igualmente, exerce a funo social e ambiental, em sua noo mais difusa
possvel, quando permite que todos possam usufruir o bem ambiental, por via do
exerccio da atividade do Ecoturismo, permitindo a interao do homem junto ao
meio ambiente de forma sustentvel.
Assim, vislumbramos que a funo social ambiental da propriedade, tanto
rural quanto urbana, em decorrncia da prpria Constituio Federal, dever ser
atendida para que possamos falar em direito adquirido, bem como, em liberdade de
exerccio.
9.1.2 Princpio da educao ambiental
Pela definio de Fiorillo e Rodrigues (1997, p. 118), o princpio da educao
ambiental assim definido:
O princpio da educao ambiental corolrio do princpio da
participao na tutela do meio ambiente [...]. Assim, com princpio da
informao, este princpio tambm restou expressamente previsto na
CF, quando, no artigo 225, 1, VI, mencionou a necessidade da
educao ambiental como forma de trazer a conscincia ecolgica
ao povo, titular do direito ao meio ambiente, e, assim, permitir a
efetivao do princpio da participao na salvaguarda desse direito.
A educao ambiental redundar na reduo dos custos ambientais, tendo
em vista que a populao dever atuar como guardi do meio ambiente com o
despertar da conscientizao ecolgica, que possui, dentre suas primcias, a
utilizao de tecnologias limpas, resultando tambm no incentivo realizao do
princpio da solidariedade no exato sentido evidente de que o meio ambiente
nico, indivisvel e de titularidade indeterminvel, e deve ser justa e eqitativamente
acessvel a todos, o que permite tambm a efetivao do princpio da participao e
dos preceitos norteadores do princpio da preveno.
114
Sem nenhuma sombra de dvida, a educao ambiental instrumento
basilar para qualquer ao preservacionista, tendo em vista que somente com o
despertar da conscientizao ecolgica, semeada em todas as classes e nveis da
sociedade que dever ser envolvida como um todo, que garantir que a
preservao do meio ambiente poder ser potencializada, ainda que isso no
signifique que a degradao ambiental acabar, vez que redunda numa inflexo
utpica.
Contudo, pode ser afirmado, que ao menos ser diminuda a incidncia da
degradao ambiental, atravs do uso racional dos recursos ambientais frente sua
esgotabilidade, o que garantir um meio ambiente ecologicamente mais equilibrado,
cuja importncia se faz eminente consagrao da sadia qualidade de vida das
presentes e futuras geraes.
Assim, a atividade do Ecoturismo realizada com racionalidade e
planejamento, pautando-se e efetivando-se com suporte no Princpio da Informao
e no Princpio da Educao Ambiental, o que resultar na difuso da
conscientizao ecolgica, culminando na exata expresso de desenvolvimento
sustentvel por aliar interesses econmicos com interesses ambientais, resultando,
assim.
9.1.3 Princpio da cooperao entre os povos
A cooperao entre os povos resulta num importante princpio para uma
sociedade implementar o desenvolvimento de forma sustentada, que em decorrncia
do carter progressista de nossa Carta Constitucional, insere-se em nossa ordem
constitucional em razo do artigo 4 inciso IX da CF/88, onde o Brasil se
compromete a realizar a cooperao entre os povos para o progresso da
humanidade.
Por ser o Ecoturismo uma atividade econmica tpica de consumo que se
realiza com a utilizao dos chamados bens ambientais, em decorrncia da
explorao turstica ecolgica, possui como caracterstica essencial a explorao
115
sustentvel do meio ambiente, o que resulta na utilizao de recursos de natureza
transfonteiria.
Por tal motivo, percebemos a importncia deste princpio, tendo em vista que
do princpio 20 da 1 Conferncia Mundial sobre o Meio Ambiente, conhecida como
Conferncia de Estocolmo/72, extraiu-se que havia a necessidade do livre
intercmbio de experincias cientficas e do mtuo auxlio tecnolgico e financeiro
entre os pases, visando facilitar a soluo dos problemas ambientais existentes.
Vale destacar que, durante a Rio/92, em razo da denominada Agenda 21,
enfatizou-se a preocupao e a importncia da interao de relao entre os pases
em decorrncia do contexto de desenvolvimento e meio ambiente, e que esta inter-
relao, no significaria perda de soberania de algum Estado, muito menos da
autodeterminao dos povos, tendo em vista que extrai-se do princpio 2 da
Declarao do Rio de Janeiro, que direito soberano dos Estados realizar a
explorao de seus prprios recursos segundo suas prprias polticas de
desenvolvimento e meio ambiente, sendo sua, a responsabilidade e a segurana
sobre as atividades sob a gide de sua jurisdio ou controle, de forma que no
causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou reas alm dos limites da
jurisdio nacional.
9.1.4 Princpio do acesso eqitativo dos recursos naturais
Tal princpio encontra inserte em nossa ordem legal constitucional por fora
do artigo 225, caput da CF/88, tendo em vista que tal dispositivo garante ser direito
comum do povo a utilizao do meio ambiente ecologicamente equilibrado, por ser o
mesmo essencial a sadia qualidade de vida.
Percebemos que o referido princpio do Acesso Eqitativo dos Recursos
Naturais efetivado com a realizao da atividade do Ecoturismo, por propiciar com
seu desenvolvimento, utilizao dos recursos ambientais com vistas a garantia a
sadia qualidade de vida.
Este princpio tambm evidenciado na seara internacional em decorrncia
do Princpio 1 da Declarao do Rio de Janeiro em 1992, que aduz serem os seres
116
humanos o centro das preocupaes em razo do desenvolvimento sustentvel,
tendo direito a uma vida saudvel, produtiva e harmoniosa com o meio ambiente.
Contudo, destaca-se que o direito a o acesso aos recursos naturais, em
razo da esgotabilidade dos bens ambientais, no pode ser exercido de forma
desmedida, tendo em vista a preocupao com o meio ambiente, sendo que este foi
o centro de preocupao vislumbrado na Conferncia sobre o Meio Ambiente
realizada em Estocolmo em 1972, destacando em seu Princpio 5 que, dada a
esgotabilidade dos recursos naturais do planeta, os mesmo devem ser explorados
de tal modo que no coloquem em risco sua extino, e, que as vantagens advindas
da explorao seja partilhada em prol de toda a humanidade.
9.1.5 Princpio do poluidor-pagador
Antes de qualquer interpretao em decorrncia do princpio do poluidor-
pagador, faz-se necessria certa cautela no que diz respeito ao fato de que sua m
orientao resultar no comprometimento de sua prpria efetividade e dos demais
princpios fundamentais da legislao e tutela jurisdicional ambiental.
A cautela destacada deve-se ao fato de que podemos interpretar o
mencionado princpio, que representa um dos principais princpios norteadores do
Direito Ambiental, no sentido de darmos uma conotao equivocada ao interpret-lo,
como de pagar para poder poluir, poluir mediante paga, pagar para evitar que se
contamine, quem degrada paga e no repara o dano, cujos sentidos, em razo
destas interpretaes, no devem prevalecer sobre a correta inteno deste
fundamental princpio.
Somente podemos admitir a interpretao em decorrncia do princpio do
poluidor-pagador, no sentido de que este tem por escopo evitar a ocorrncia de
danos ambientais, tendo em vista que funciona como estimulante negativo para os
potenciais poluidores do meio ambiente. Contudo, observado, que sua incidncia
ocorre num plano mais abrangente, agindo subseqentemente preveno do dano,
de forma a tutelar o meio ambiente nas situaes onde j ocorreu o dano ambiental,
visando assim, a reparao desses danos causados na esfera ambiental.
117
A definio desse princpio do poluidor-pagador foi dada pela Comunidade
Econmica Europia, evidenciando que:
[...] as pessoas naturais ou jurdicas, sejam regidas pelo direito
pblico ou privado, devem pagar os custos das medidas que sejam
necessrias para eliminar a contaminao ou para reduzi-la ao limite
fixado pelos padres ou medidas equivalentes que assegurem a
qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder Pblico
competente (FIORILLO; RODRIGUES, 1997, p. 121).
Benjamin (1993, p. 229), explicita em seus ensinamentos que:
O objetivo maior do princpio do poluidor pagador, fazer com que
os custos das medidas de proteo do meio ambiente - as
externalidades ambientais - repercutam nos custos finais de produtos
e servios cuja produo esteja na origem da atividade poluidora. Em
outras palavras, busca-se fazer como que os agentes que originam
as externalidades 'assumam os custos impostos a outros agentes,
produtores e/ou compradores.
Nesse contexto, extramos o entendimento de que o princpio do poluidor-
pagador no possui nenhum vnculo em razo do benefcio decorrente da atividade
degradante, ou seja, importa em afirmar que ocorrer a responsabilizao ambiental,
sempre que evidenciado o dano ao meio ambiente, independendo do resultado
obtido com a degradao ambiental.
preciso considerar que o princpio do poluidor pagador reluz em nosso
ordenamento jurdico incidindo sob dois prismas, um de alcance preventivo e outro
repressivo, sendo que neste ltimo, somente ocorrer sua percepo em sede de
responsabilidade civil, considerando-se que a prpria funo do pagamento
resultante da poluio no possui carter de pena, tampouco de sujeio a uma
referida infrao administrativa, cujo fato, em nenhuma hiptese resulta na excluso
da possibilidade da cumulao das mesmas, ou seja, da incidncia concomitante da
trplice responsabilizao, nos termos da Constituio Federal.
Ademais, evidenciamos em decorrncia do que j foi explicitado na definio
do princpio anterior, que uma das premissas da atividade do Ecoturismo redunda na
preservao e conservao do meio ambiente para as presentes e futuras geraes,
e ainda, na promoo do desenvolvimento sustentvel, o que implica dizer, na
utilizao racional dos recursos ambientais face sua esgotabilidade.
118
Sendo assim, temos que o princpio do poluidor-pagador incide de forma
quase que meramente preventiva na referida atividade, haja vista que o Ecoturismo
visa um mnimo de impacto ambiental.
Contudo, o referido princpio do poluidor-pagador no nega sua
essencialidade, pois age de forma a conscientizar os usurios dos recursos
ambientais sobre a valorao dos bens ambientais, incidindo na internalizao dos
custos ambientais, visando tambm a gerao de recurso para a reparao de
danos ambientais que forem causados.
9.1.6 Princpio da reparao
Originariamente o Princpio da Reparao deriva do princpio 13 da
Declarao do Rio de Janeiro, estando consagrado em nossa ordem constitucional
no artigo 225, 3 da Constituio Federal de 1988.
Tal princpio aduz a obrigao dos Estados Soberanos em desenvolver, no
mbito nacional, legislao em razo da responsabilidade de agentes e
indenizao das vtimas da degradao e outros danos ao meio ambiente, bem
como, devero implementar aes de cooperao para o desenvolvimento de novas
normas internacionais sobre a responsabilizao e indenizao referentes a efeitos
adversos ao meio ambiente que resultem de atividades realizadas nos limes de sua
jurisdio ou que esteja sob seu controle nas zonas situadas fora de sua jurisdio.
Vale mencionar que o princpio da reparao no objetiva apenas obrigar os
agentes responsveis pela degradao a indenizarem s vtimas do dano ambiental,
como pode reluzir num momento inicial, mas, extrapola esta inteno, uma vez que
resulta na imposio de que seja reparado o meio ambiente atingido.
Desse modo, evidencia-se que a atividade do Ecoturismo uma atividade
tipicamente de consumo, caso venha ser percebido algum dano ao meio ambiente,
os agentes responsveis, em razo dos resultados percebidos, devero ser
responsabilizados.
119
9.1.7 Princpio do equilbrio
O princpio do Equilbrio tem sua origem na esfera constitucional ptria, em
decorrncia do artigo 225, caput, da CF/88, relacionado ao direito de todos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, implicando em que, visando-se determinar
uma poltica ambiental, devemos analisar as possveis conseqncias que possam
ocorrer em razo da adoo de uma determinada medida, cuja utilidade impera em
favor da coletividade, buscando-se evitar, nesse sentido, gravames ambientais,
principalmente a sadia qualidade da vida humana.
Assim, resta evidente que o princpio do equilbrio refere-se ao fato de que
devem ser pesadas todas as implicaes de uma interveno no meio ambiente,
buscando-se adotar a soluo que melhor concilie um resultado globalmente positivo
(ANTUNES, 1999, p. 38).
Isto nos impe a afirmar que a atividade do Ecoturismo se desenvolve
justamente em observncia a manuteno do equilbrio que deve se extrair da
utilizao do meio ambiente ante seus fins, buscando efetivar o desenvolvimento de
forma sustentada.
9.1.8 Princpio da considerao da varivel ambiental no processo decisrio
de poltica de desenvolvimento
Este princpio deriva da conjuno analtica observada em razo do artigo
225, caput, e artigo 170, inciso VI da Constituio Federal, da qual, extramos o
entendimento de que possui como ordem elementar a obrigao da coletividade,
bem como, do Poder Pblico, o que representa dizer, tanto na esfera privada quanto
pblica, levar em considerao em qualquer ao ou processo decisrio que
apresente risco de causar algum impacto negativo ao meio ambiente, a varivel
ambiental, importando inclusive, na realizao da atividade do Ecoturismo face sua
utilizao de bens ambientais.
120
Tal premissa decorre do Princpio 17 definido na Declarao do Rio de
Janeiro, cuja preocupao originou-se no final dos anos 60, em razo do Estudo de
Impacto Ambiental.
Vale ressaltar que devemos levar em considerao a potencialidade de
danos ao homem e ao meio ambiente, decorrentes de qualquer interveno a ser
realizada, em que objetivo resume-se em prevenir ou mitigar os efeitos originados
pela poluio ou outras agresses resultantes em danos ao meio ambiente.
9.1.9 Princpio da eficincia
Evidenciamos que nossa Carta Constitucional incide na regulamentao da
iniciativa privada em decorrncia do artigo 170, que institui vrios princpios
relacionados ordem e atividade econmica.
O princpio da eficincia extrado do artigo 37 da CF/88 e apresenta-se de
suma importncia para regular as atividades pblicas, principalmente no que tange
adoo e realizao de medidas e diretrizes de poltica pblica, as quais se referem
prestao de servios em matria de consumo e defesa do meio ambiente,
inserindo-se, neste contexto, como uma das atividades, o desenvolvimento do
Ecoturismo.
Diante disso, os rgos da administrao pblica, direta ou indireta, devem
reger-se em observncia da eficincia de sua consecuo, impondo-se por fora do
artigo 175, inciso IV da CF/88, que a realizao das aes pblicas deve ocorrer
alm de eficiente, de forma adequada.
Tambm observamos que a adequao e a eficincia representam fatores
que devem incidir simultaneamente na ordem ftico-jurdica, pois aduz-se eficiente
aquilo que funciona bem, atingindo o objetivo ao qual se destina e, adequado, por
representar uma medida necessria em razo de uma dada necessidade.
121
9.1.10 Princpio da publicidade
Relacionada atividade do Ecoturismo, auferimos que no texto
constitucional existem vrios dispositivos tratando da publicidade, a qual pode
receber conotaes diferentes. Contudo, ressalta-se que a mesma possui como
cerne o vnculo comunicacional extrado da sociedade, resultante de algum fato
notrio, ao ou diretriz normativa.
Encontramos em vrios dispositivos contidos em nossa Carta Constitucional,
questes referentes publicidade, sejam regulando matria de consumo, ambiental
ou ainda, assuntos mais genricos, sendo que em alguns momentos o legislador
utilizou a expresso propaganda, contudo, em momento algum faz distino das
mesmas, sendo ambas empregadas com o mesmo sentido.
Assim, podemos considerar a publicidade, em decorrncia da matria de
consumo, uma premissa constitucional garantida, existente no sentido de nortear a
conduta do agente publicitrio, buscando a limitao de instrumento, no sentido de
coibir que estas no sejam utilizadas de forma nociva sociedade.
Neste diapaso, extramos do contexto de publicidade do artigo 37 da
CF/88, que a conotao dada a de tornar pblico, ou seja, de tornar de
conhecimento notrio algo para toda a sociedade: aes ou realizaes da
Administrao Pblica Direta ou Indireta, bem como, em razo do 1 do mesmo
dispositivo, no que se refere ao carter da publicidade, visa orientar e determinar
que seu contedo seja educativo, informativo, ou de orientao social.
De outro plano, o artigo 220, 3 inciso II da CF/88, evidencia a garantia da
proteo da pessoa e da famlia em face da publicidade nociva sade e ao meio
ambiente. Tambm, em razo do artigo 221, inciso IV de nossa Carta Magna,
extramos a imposio relacionada ao respeito a valores ticos e sociais da pessoa e
da famlia.
Por fim, conclumos que o princpio da publicidade inserido em nossa ordem
jurdica, por fora de nossa Constituio Federal de 1988, torna-se importante para a
perfeita realizao da atividade do Ecoturismo, pois visa a proteo da tica no
campo da publicidade e da comunicao social, motivo pelo qual mereceu um
122
captulo para seu regulamento, tratando-se do Captulo V da CF/88, sendo a
verdade o valor tico defendido.
9.1.11 Princpio da garantia a honra, imagem e vida privada
A garantia inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e
imagem, encontra-se inserida em nosso ordenamento por fora do artigo 5 inciso X
da CF/88, assegurando, inclusive, o direito de indenizao por danos materiais e
morais originados em decorrncia de sua violao, cuja prerrogativa resguardada
tanto pessoa fsica quanto pessoa jurdica, e que se fazem importantes na
atividade do Ecoturismo, em que, sob muitos aspectos, percebido principalmente
face aos turistas.
Extramos que estas prerrogativas so inerentes prpria existncia
humana, enquanto indivduo devidamente considerado, para quem a intimidade e a
vida privada no possibilitam dissociao.
vlido ressaltar que, ainda que um venha a lembrar o outro, ou seja,
intimidade e vida privada, os mesmo no apresentam a mesma significao apesar
da estreita relao, tendo em vista que o aspecto intimidade de mbito mais
extrnseco, e vida privada insere-se numa esfera um pouco mais abrangente.
De outro modo, em relao honra, extramos que esta pode lembrar
dignidade, mas tambm no podem ser confundidas, tendo em vista que a dignidade
representa uma garantia constitucional inserte no contexto da simples existncia do
indivduo enquanto pessoa humana, enquanto que a honra representa um conceito
que pode ser varivel, considerando-se fatores sociais incidentes, tendo como
resultado um valor social gozado pelo indivduo, motivo pelo qual depende do
contexto social do qual pertence.
De outra banda, a imagem representa o conjunto de atributos relacionados
ao indivduo ou a um referido bem, no importando sua natureza, inserindo-se
tambm neste contexto o bem ambiental, que representa objeto primordial para o
desenvolvimento da atividade do Ecoturismo.
123
Em razo da imagem, extramos duas vertentes para sua tutela: a
denominada imagem-retrato, que se reporta aos aspectos fsicos-mecnicos,
fisionmicos, ou estticos; e, a imagem atributo, referentes aos aspectos inerentes a
funo exercida na sociedade.
9.1.12 Princpio do desenvolvimento sustentvel
Este princpio redunda num dos mais importantes para tutela jurisdicional
ambiental, guardando extrema identidade decorrente do artigo 225 da CF/88, que
em decorrncia do que se extrai de uma de suas partes, aduz que o Poder Pblico
em razo do meio ambiente deve [...] preserv-lo para as presentes e futuras
geraes [...].
Neste diapaso, procurou o legislador constituinte evidenciar mais este
princpio norteador da poltica ambiental brasileira, que o do desenvolvimento
sustentado, importando dizer sucintamente, que a idia nos remete possibilidade
de alcanarmos o desenvolvimento de forma harmnica com a proteo ambiental,
por serem ambos direitos que se complementam em prol de todos.
J vimos que o Estado possua a necessidade de se reorganizar, motivo que
o levou a valer-se dos ditames da justia social e simultaneamente de se desfazer
do ultrapassado liberalismo (laissez-faire, laissez-passer), que se tornou inoperante
ante o fenmeno denominado de revoluo das massas, indo, contudo, alm, pois o
mesmo contribuiu para o deslinde de uma situao que caminhava para um
anarquismo econmico.
A nova realidade encontrada face transformao social, poltica,
econmica e tecnolgica experimentada pelo mundo desde o incio do sculo XIX,
levou necessidade de se implementar um modelo Estatal intervencionista que
deveria possuir apenas a finalidade de reequilibrar o mercado econmico, pois esse
era o modelo que se mostrava mais adequado e efetivo, e assim, justo, tendo em
vista que resulta numa sociedade eminentemente pluralista, no exato sentido que
prescinde do seu conceito individualista.
124
Destacamos que se tratava de mudanas estruturais na sociedade.
Tnhamos uma sociedade de modelo liberal que focava unidimensionalmente o
indivduo, revestido de conotao privada, apoltica e contraposta ao Estado
monopolizador do poltico, que foi sucedida por uma sociedade pluralista, cujo
cerne, a partir de ento, seria, ao invs do indivduo, grupos de origem como
partidos polticos, associaes econmicas, culturais, religiosas e sindicatos, ou
seja, formar-se-ia por grupos revestidos de dimenso pblica.
Neste sentido, houve a manuteno entre si, das mltiplas relaes de
concorrncia ou de complementaridade em razo de uma mquina estatal que no
mais pertence unicamente o poder poltico. Por um lado, percebeu-se que as
denominadas sociedades de classes do sculo XIX havia sido substitudas por uma
sociedade cujas classes, ou no mais existiam, ou perderam sua importncia na
nova estrutura pluralista social.
Na nova ordem experimentada, no se pode mais dissociar a estreita
relao entre a Constituio do Estado e a Constituio Econmica, em que se
percebe que a forma de capitalismo extrada do sculo XIX representava, em sua
essncia, a forma liberal do estado burgus que se caracterizava por se apresentar
desprovido de funo econmica e, observado no que tange sua estrutura interna, a
proeminncia do legislativo sobre o executivo, cuja forma econmica do capitalismo
monopolista contemporneo representa o estado social amplamente intervencionista
na economia, ou seja, reluz num modelo cuja funo econmica se destaca em
relao s demais funes.
Conclui-se ento, que a noo e conceito de desenvolvimento, inicialmente
formados num Estado Liberal, j no mais podem ser alicerados numa sociedade
moderna, ante o fato de que, atualmente no mais adversa a noo de
desenvolvimento, o papel ativo do Estado na tutela ao meio ambiente, tendo em vista
que, decorrente da mutao trazida pelo novo conceito, a proteo do meio ambiente
e o fenmeno desenvolvimentista, encaixa-se no contexto livre iniciativa,
convergindo num objetivo comum por representarem interesses convergentes entre si.
Assim, tendo em vista a necessidade de um planejamento que objetive um
desenvolvimento social e econmico, com nfase na correta utilizao dos recursos
naturais e na busca de um equilbrio entre estes fatores, temos que:
125
A busca e a conquista de um ponto de equilbrio entre o
desenvolvimento social, crescimento econmico e a utilizao dos
recursos naturais exigem um adequado planejamento territorial que
tenha em conta os limites da sua sustentabilidade. O critrio do
desenvolvimento sustentvel deve valer tanto para o territrio
nacional na sua totalidade, reas urbanas e rurais, como para a
sociedade, para o povo, respeitadas as necessidades culturais e
criativas do pas (FIORILLO; RODRIGUES, 1997, p. 118).
Neste sentido, evidenciamos que o princpio do Desenvolvimento
Sustentvel est enraizado em todo Estado Democrtico de Direito, cuja percepo
focada de forma global em vrias naes, como o caso da Constituio
Portuguesa em razo de seu ordenamento jurdico, fazendo referncia ao mesmo no
sentido de que:
O princpio constitucional do desenvolvimento sustentvel obriga
assim fundamentao ecolgica das decises jurdicas de
desenvolvimento econmico, estabelecendo a necessidade de
ponderar tanto os benefcios de natureza econmica como os
prejuzos de natureza ecolgica de uma determinada medida,
afastando por inconstitucionalidade a tomada de decises
insuportavelmente gravosas para o ambiente (SILVA, 2002, p. 73).
Extramos do contexto de desenvolvimento sustentvel que a metodologia
utilizada para definio dos parmetros de sustentabilidade encontra-se alicerada
nos princpios da teoria de sistemas, considerando a inter-relao das partes, bem
como, destas com o todo, somando-se ainda, seus fluxos de entrada e sada, o que
nos remete anlise tradicional dos processos econmicos, considerando a
dimenso territorial como suporte fsico concreto, juntamente com os recursos
ambientais ou os resduos decorrentes de sua explorao.
Podemos ainda auferir que sendo observada uma sociedade sem limites em
razo do exerccio das atividades produtivas, ou seja, sem que houvesse regras que
limitassem a livre concorrncia e a livre iniciativa, o resultado de tal situao seria o
caos ambiental, com mxima certeza, sendo a situao totalmente indesejada,
inclusive pelos prprios responsveis pelo crescimento da economia.
Observamos mais uma vez, que nossa Constituio possui cunho
eminentemente vanguardista com vistas ao progresso, no exato momento em que
adotou um sistema de desenvolvimento sustentado, consagrando-o em seu artigo
225, repetindo o conceito de desenvolvimento sustentado definido pela Comisso
126
Mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento da seguinte forma: o
desenvolvimento que atende as necessidades do presente, sem comprometer a
capacidade das futuras geraes atenderem as suas prprias necessidades
(FIORILLO; RODRIGUES, 1997, p. 118).
Ademais, podemos ainda afirmar que tal conceito, numa acepo mais
completa, poltica desenvolvimentista, evidenciado no artigo 170 da CF/88, no
exato sentido que estabelece que:
[...] a ordem econmica, fundada na livre iniciativa (sistema de
produo capitalista) e valorizao do trabalho humano (limite ao
capitalismo selvagem) dever regrar-se pelos ditames de justia
social, devendo, para tanto, seguir alguns princpios, entre eles o
contido no inciso VI: a defesa do meio ambiente (FIORILLO;
RODRIGUES, 1997, p. 119).
Pelo evidenciado, podemos afirmar que a recepo do princpio do
desenvolvimento sustentvel em nossa ordem jurdica tem por escopo limitar o
exerccio da livre concorrncia e da livre iniciativa, porm, sem obstar o crescimento
econmico voltado aos interesses sociais, caso o mesmo ocorra em observncia da
necessidade da preservao do meio ambiente, visando garantir a prpria qualidade
de vida das geraes presentes, sem prejuzo das futuras, como bem observa os
professores Fiorillo e Rodrigues:
Se assim fosse elencado pelo legislador constituinte, ou seja, livre
concorrncia e defesa do meio ambiente caminhando lado a lado
para o alcance da ordem econmica voltada para a justia social,
porque este princpios, em ltima anlise, convergem entre si.
Acentua-se a, a adoo ao desenvolvimento sustentado, com o fim
de preservar o hoje e o amanh (geraes futuras) (FIORILLO;
RODRIGUES, 1997, p. 110).
A atividade do Ecoturismo deve se desenvolver com base nos ditames do
princpio do desenvolvimento sustentvel, uma vez que resulta no objeto de sua
principal funo econmica, em decorrncia da preservao do meio ambiente e do
mnimo impacto ambiental, e, alcana-se com isso o desenvolvimento da regio
onde difundida a prtica do turismo ecolgico.
Podemos afirmar que dentre as premissas da atividade do Ecoturismo, em
observncia necessidade de preservao e conservao do meio ambiente de
127
forma eqitativa para as presentes e futuras geraes, est tambm promover o
desenvolvimento de forma sustentvel, principalmente na regio onde se realiza a
atividade.
Observa-se que
o Ecoturismo uma tendncia em termos de turismo mundial que
aponta para o uso sustentvel de atrativos no meio ambiente e nas
manifestaes culturais, devemos ter em conta que somente teremos
condies de sustentabilidade caso haja harmonia e equilbrio no
dilogo entre os seguintes fatores: resultado econmico, mnimos
impactos ambientais e culturais, satisfao do ecoturista (visitante,
cliente, usurio) e da comunidade (visitada)
25
.
Finalmente vlido ressaltar que o princpio do desenvolvimento
sustentvel, alm das premissas de ordem ambiental, tambm age em razo das
relaes de consumo, principalmente na atividade do Ecoturismo, tendo em vista
que, observando-se o contexto do artigo 225, caput, conjuntamente com o artigo
170, ambos da CF/88, extramos que as atividades econmicas, cujos contextos nos
remete ao turismo ecolgico como atividade tpica de consumo, somente ser
possvel ser realizada, caso seja desenvolvida com base na responsabilidade social,
devendo se desenvolver de forma racional, planejada e sustentvel, sob pena de
ofender sua essncia principiolgica constitucional.
9.1.13 Princpio da dignidade da pessoa humana e do direito humano fundamental
O princpio da dignidade da pessoa humana talvez represente o principal
fator social, por colocar o homem como o cerne principal da sociedade, sendo
considerado o destinatrio de todas as normas sociais, tendo em vista que a
dignidade da pessoa humana resulta no principal fundamento de uma sociedade
justa livre e solidria.
Destacamos o ensinamento do Professor Celso Antnio Pacheco Fiorillo,
que aduz ser necessrio para atingirmos o objetivo da dignidade da pessoa humana,
25
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&conteudo=./ecotu
rismo/ecoturismo.html, capturado em 12/01/2006.
128
consagrar um piso vital mnimo, resultando em prerrogativas sociais essenciais
para uma existncia digna.
Neste sentido, tais prerrogativas mnimas encontram-se insertes no artigo 6
da CF/88, que reluz no sentido de ser prerrogativa de todo indivduo a educao, a
sade, o trabalho, o lazer, a segurana, a previdncia social, a proteo
maternidade e a infncia, a assistncia aos desamparados, sendo que tais
condies se fazem necessrias para se atingir o objetivo pretendido em razo do
artigo 225, caput da CF/88, ou seja, do direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida.
Assim, conclumos que o direito a uma vida digna, sadia e com qualidade
representa uma premissa humana fundamental, cujo supedneo encontra-se inserte,
alm do disposto no artigo 225, caput da Carta Constitucional, tambm no Princpio
1 da Declarao do Rio de Janeiro/92, que afirma que os seres humanos
representam o centro das preocupaes relacionadas com o desenvolvimento
sustentvel, sendo direito de todos, uma vida saudvel e produtiva, a ser realizada
de forma harmoniosa com o meio ambiente, cujo sentido extrado do contexto da
realizao da atividade do Ecoturismo.
9.1.14 Princpio da participao (Democrtico)
O princpio da participao reluz no sentido da necessidade de atuao
efetiva da coletividade e do Poder Pblico na proteo e preservao do meio
ambiente.
Tal princpio decorre expressamente da CF/88 em razo de seu artigo 225,
caput, em que declara ser dever de toda a coletividade e do Poder Pblico, atuar na
defesa e proteo do meio ambiente.
O princpio da participao representa um dever da coletividade, frente ao
fato de que sua omisso participativa representar um prejuzo que ser suportado
pela prpria coletividade.
Devemos ressaltar ainda que o direito ao meio ambiente possui uma
natureza difusa, sendo que, o fato de sua gerncia encontrar-se custodiada pelo
129
Poder Pblico, no implica na possibilidade de sobrestar o dever do povo em atuar
na conservao e preservao deste direito que lhe assegurado.
Destaca-se que o princpio da participao possui ampla importncia
enquanto constituinte de um dos elementos do Estado Social de Direito, o qual
podemos ainda considerar como sendo Estado Ambiental de Direito:
Uma das implicaes inerentes ao princpio da participao que
este constitui um dos elementos do Estado Social de Direito, que
tambm poderia ser denominado de Estado Ambiental de Direito, no
exato sentido que todos os direitos sociais so estrutura essencial da
qualidade de vida que, por sua vez, um dos pontos cardeais de
tutela ambiental (FIORILLO; RODRIGUES, 1997, p. 144).
Salienta-se que o princpio da participao evidencia-se, basicamente, sob
dois enfoques de atuao subsistentes entre si, possuindo uma relao de
complementariedade, quais sejam, a informao ambiental e a educao ambiental.
O princpio da participao representa, ante a realizao da atividade do
Ecoturismo, no apenas uma prerrogativa da populao originria do local onde esta
pretende desenvolver tal atividade, mas, representa uma condio fundamental para
o sucesso do empreendimento, tendo em vista que, sem o envolvimento da
populao, podemos afirmar que, mesmo no resultando na impossibilidade de seu
desenvolvimento, com mxima certeza, seria mais difcil obter os resultados
positivos pretendidos.
9.1.15 Princpio da precauo
O Princpio da Precauo pode se apresentar como uma garantia contra os
riscos potenciais de danos ao meio ambiente nas situaes em que, levando-se em
considerao o estado atual do conhecimento, no poderamos precisar nenhum
diagnstico sobre os efeitos dos possveis impactos, e, nem se os mesmos
ocorreriam ou no, representando assim, total incerteza dos efeitos decorrentes de
uma interveno ao meio ambiente.
De tal princpio, extramos que, ante a ausncia de certeza cientfica formal,
bem como, em se observando a existncia de um risco de dano considervel ou
130
irreversvel ao meio ambiente, deve-se implantar medidas que impeam a ocorrncia
de um dano ambiental.
O princpio da precauo firmou-se de forma mais concisa na ocasio da
realizao da Conferncia das Naes Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a denominada Rio/92, realizada no Rio de Janeiro em 1992, mais
precisamente em seus princpios 15 e 17, seno vejamos:
Princpio 15: De modo a proteger o meio-ambiente, o princpio da
precauo deve ser amplamente observado pelos Estados, de
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaa de danos
srios ou irreversveis, a ausncia de absoluta certeza cientfica no
deve ser utilizada como razo para postergar medidas eficazes e
economicamente viveis para prevenir a degradao ambiental.
Princpio 17: A avaliao de impacto ambiental, como instrumento
internacional, deve ser empreendida para as atividades planejadas
que posam vir a ter impacto negativo considervel sobre o meio
ambiente, e que dependam de uma deciso de autoridade nacional
competente.
O Princpio da Precauo se faz tambm de suma importncia para o meio
ambiente, em razo da atividade do Ecoturismo, tendo em vista que no se podendo
determinar o resultado sobre possveis danos ao meio ambiente, face fragilidade
dos ecossistemas, e da necessidade primordial de preserv-lo, torna-se necessrio
lanar mo de medidas que impeam a degradao, desenvolvendo-se a referida
atividade pautando suas aes no mesmo sentido.
O presente princpio tambm se faz importante nas relaes de consumo,
tendo em vista que o fornecedor, desconhecendo as potencialidades nocivas ou no
podendo afirmar sobre a inexistncia destas em razo de seu produto, ou
fornecimento de servio, com possibilidade de colocar em risco de dano o
consumidor, no mesmo sentido, em razo do meio ambiente, deve abster-se de seu
empreendimento, haja vista sua responsabilidade social.
131
9.1.16 Princpio da preveno
O princpio da Preveno revela-se como uma das mais importantes
primcias para a tutela ambiental, devendo ser considerado palavra de ordem, tendo
em vista que os danos ambientais, tecnicamente falando, so considerados
irreparveis e irreversveis, e, frente a impotncia do sistema, bem como da
impossibilidade lgico-jurdica de se fazer voltar a uma situao inicial de obra da
prpria natureza, que a observncia de tal princpio se faz necessria.
A Carta Constitucional vigente, revestida de cunho progressista e
vanguardista, sabiamente veio a instituir por fora de seu artigo 225, caput, o
referido princpio, determinando ser incumbncia do Poder Pblico e da coletividade
o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras
geraes.
Sabemos que a educao ambiental se faz fundamental para que possamos
agir de forma a preservar o objeto do Direito Ambiental, objetivando, inicialmente,
conscientizar a sociedade como um todo, no que diz respeito aos prejudiciais efeitos
resultantes da degradao e da destruio do meio ambiente, principalmente dos
meios naturais que, somadas a ausncia de polticas preventivas, podem trazer
conseqncias danosas para a sociedade atual, e ainda, para as geraes
vindouras.
Destacamos que o princpio da preveno se perfaz um importante
instrumento para a consecuo da atividade do Ecoturismo, pois, representa outra
de suas premissas, tendo em vista que exercendo a preveno de danos, estaremos
garantindo a integridade do meio ambiente e mantendo o principal objeto turismo
ecolgico, sem o qual, a atividade econmica sucumbiria.
Evidenciamos que a preveno ocorre quando j se tem constado, que
decorrente da realizao de alguma ao ou interferncia no meio ambiente, podem
resultar provveis danos ao meio ambiente, devendo ser tomadas as devidas
cautelas atravs da adoo de medidas preventivas que visem evitar que os danos
ocorram, lembrando que a atividade do Ecoturismo resultado do desenvolvimento
de uma atividade econmica em harmonia com o meio ambiente, visando ser
empreendida com um mnimo possvel de impacto ambiental.
132
9.1.17 Princpio da informao
Forma tambm o princpio da informao ambiental, uma das primcias
basilares do Direito Ambiental, sendo extrado inicialmente do art. 6, 3 e art. 10
da PNMA, e, no mbito constitucional em razo do artigo 225, 1, IV, da CF/88,
resultando assim, da conseqncia lgica do direito de ser informado decorrente do
artigo 220 e 221 da CF/88.
Podemos afirmar, que o artigo 220 da CF/88 representa, no apenas um
direito informao, mas, representa tambm um direito de ser informado, que
podemos considerar um direito difuso, inclusive atuando como limitador da liberdade
de informao.
Devemos mencionar que a afirmao acima pode deturpar-se no sentido de
estarmos ferindo a liberdade de informao previstas no caput do mencionado artigo
220.
Tal assertiva se faz em decorrncia do equivocado pensamento de que
estaramos violando a Comunicao Social, um dos captulos da Ordem Econmica
e Financeira Constitucional (V), no exato momento em que observamos o que
exprime o artigo 220:
[...] a manifestao do pensamento, a criao, a expresso e a
informao, sob qualquer forma, processo ou veculo no sofrero
qualquer restrio, observado o disposto nesta Constituio.
1 Nenhuma lei conter dispositivo que possa constituir em
embarao liberdade de informao jornalstica em qualquer veculo
de comunicao social, observado o disposto no art. 5, IV, V, X, XIII
e XIV.
Tal pensamento equivocado, no deve prosperar ante o fato de que, um dos
princpios norteadores da Ordem Econmica e Financeira, inserido o artigo 220,
redunda na determinao da proteo do meio ambiente, evidenciado no artigo 170,
VI da CF/88, que, em observncia ao que se extrai do dispositivo do artigo 220, em
razo da afirmativa de que ser [...] observado o disposto nesta Constituio,
podemos concluir que a comunicao social ser livre, contudo, com a observncia
do princpio da proteo e conservao do meio ambiente, o que representa a
segurana dos valores constitucionais que so intimamente ligados qualidade de
133
vida, ou seja, a segurana, sade, igualdade, dignidade humana, bem estar social,
dentre outros.
Evidente que o princpio da informao apresenta sua importncia para
atividade do Ecoturismo em razo de resultar num direito amplo, sendo observado
tanto em face dos agentes empreendedores, quanto para os turistas que so os
consumidores na relao jurdica desenvolvida na atividade em questo, como
tambm, para a populao do local onde esta se desenvolve.
9.1.18 Princpio da ubiqidade
vlida a afirmao que do princpio da ubiqidade derivam vrias outras
primcias principiolgicas importantes, que podem ser consideradas autnomas,
tendo em vista estarem previstas desta forma na Declarao de Estocolmo, ou so
consideradas como subprincpios derivados do princpio da ubiqidade.
Consideramos que os princpios, ou como preferirem, subprincpios da
globalidade, subsidiariedade e planificao ambiental representam complementos
fundamentais em razo do princpio da ubiqidade, agindo de forma a ressaltar sua
grande importncia.
Em definio extrada dos ensinamentos de Celso Antnio Pacheco Fiorillo e
Marcelo Abelha Rodrigues, quando abordam o princpio da ubiqidade, tendo em
vista sua eminente importncia para a tutela ambiental, afirmam que:
Este princpio vem evidenciar que o objeto de proteo do meio
ambiente, localizado no epicentro dos direitos humanos, deve ser
levado em considerao sempre que uma poltica, atuao,
legislao sobre qualquer tema, atividade, obra, etc., tiver que ser
criada e desenvolvida. Isso porque, na medida em que possui como
ponto cardeal de tutela constitucional a vida e qualidade de vida, tudo
que se pretender fazer, criar ou desenvolver, deve antes, passar por
uma consulta ambiental, enfim, para se saber se h ou no a
possibilidade de que o meio ambiente seja degradado (FIORILLO;
RODRIGUES, 1997, p. 148).
Assim, podemos extrair que no se pode abordar a questo ambiental de
forma restrita e dissociada dos demais flancos sociais, tendo em vista que sua
134
atuao deve ocorrer de forma globalizada e solidria dos povos, uma vez que, ao
se observar mais detalhadamente e vislumbrado por outros aspectos, iremos
evidenciar que, caso a atuao no venha a ocorrer neste sentido, resultar numa
situao degradante, pois, sabemos que a poluio e a degradao ambiental no
encontram fronteiras, no conhecendo os limites territoriais, e, portanto, em matria
ambiental, ao mesmo tempo em que se deve pensar em sentido global, devemos
agir em mbito local, pois s assim que se consegue uma atuao sobre a causa
da degradao ambiental e no simplesmente sobre o seu efeito (FIORILLO;
RODRIGUES, 1997, p. 148).
Conclumos assim, que o Princpio da Ubiqidade incide na atividade do
Ecoturismo para evidenciar que o turismo ecolgico pauta seu desenvolvimento no
uso eqitativo dos recursos naturais, tendo como principal meta, o desenvolvimento
sustentvel, cuja realizao deve ser arrolada de forma planejada e racional.
9.1.19 Princpio da soberania
O princpio da soberania reflete na autodeterminao do povo brasileiro com
independncia territorial, onde, o exerccio desta prerrogativa possibilita o Estado a
criar e impor seu conjunto normativo interno, bem como, relacionar-se com outros
Estados Soberanos.
Este princpio constitucional vem insculpido em nossa Carta Constitucional
no inciso i do artigo 1 da CF/88, sendo evidenciado tambm no artigo 170, inciso I
do mesmo diploma, bem como, remete-se ainda ao que dispe o artigo 4 da Magna
Carta, ligando-se ao artigo 4, surgindo com a prpria Constituio Federal vigente.
Devemos destacar que o princpio da soberania, no contexto de uma ordem
mundial globalizada, apresenta-se necessrio e imprescindvel em decorrncia do
fato de que a ordem jurisdicional interna deve ser mantida sem que implique num
fechamento do ordenamento ptrio, na ordem mundial.
No sentido da afirmativa acima, evidenciamos que a adoo e o
compartilhamento de contextos normativos internacionais, tendo em vista que se
pretende unicamente garantir a soberania do pas conforme suas prprias
135
instituies e ordem interna, que para sua ocorrncia, ou seja, sem obstar a
incorporao de outros princpios e direitos oriundos da seara internacional, como
prev o artigo 5, 2 da CF/88, deve ater-se aos princpios e normas constitucionais
do ordenamento jurdico do Estado brasileiro.
Para a atividade do Ecoturismo, o princpio da soberania reveste-se de
fundamental importncia no exato sentido de que evidente a natureza
transfonteiria do meio ambiente, tambm deve ser levada em considerao a
natureza da prpria atividade econmica tpica de consumo em que resulta o
presente caso, sendo que o exerccio da soberania para seu empreendimento e
conseqente sucesso, faz-se eminente e indispensvel.
9.1.20 Princpio da isonomia
O princpio da isonomia se faz de suma importncia para a harmonia do
desenvolvimento da atividade do Ecoturismo, tendo em vista seus os elementos
constituidores, ou seja, a utilizao do meio ambiente para realizao do turismo,
configurando uma atividade econmica tpica das relaes de consumo e fundada
no desenvolvimento sustentvel.
Devemos evidenciar que a relao jurdica existente, tanto nos casos
referentes matria ambiental, quanto naqueles referentes matria de consumo,
remete-nos ao fato de que o princpio da isonomia se faz primordial em razo da
existncia de grande fragilidade nas questes que envolvem os chamados direitos
difusos e coletivos, decorrendo tal princpio do artigo 5, caput da CF/88.
Seguindo este diapaso, extramos que, em razo da prpria condio
percebida na relao jurdica em matria de direitos difusos e coletivos, impe-se
necessrio levarmos risca o pensamento do mestre Aristteles, que concluiu em
seus pensamentos sublimes que devemos tratar iguais os iguais e desiguais ou
desiguais na medida de suas desigualdades, ainda que se apresente dificultoso
determinar a incidncia concreta de tal tratamento.
Contudo, necessria reflexo decorrente das afirmativas acima
proferidas, no sentido de que a simples existncia dos casos mencionados no
136
significa que se deva aplicar o sistema da discriminao, ou seja, evidenciando-se
tratar de uma relao jurdica de direitos difusos e coletivos, vislumbrando-se a
correta aplicao do princpio em questo, devemos observar o contexto harmnico
existente entre a discriminao, a correlao lgica da discriminao com o
tratamento jurdico atribudo em face da desigualdade, e a afinidade entre essa
correlao e os valores protegidos no ordenamento constitucional (NUNES, 2004, p.
34-35).
9.1.21 Princpio da liberdade e justia
O referido princpio da liberdade extrado do artigo 3 inciso I da Carta
Constitucional, e constitui um dos objetivos fundamentais da Repblica Federativa
do Brasil, que visa construo de uma sociedade livre, justa e solidria, onde a
conotao de justia, inserida no contexto das relaes jurdicas tpicas de consumo
ou nas relaes de direito ambiental, podem evidenciar algumas distines.
Assim o sentido dado liberdade, em razo das relaes de consumo,
representa uma prerrogativa do fornecedor e do consumidor a respeito de seu
exerccio no mercado de consumo, ou seja, representa uma condio material e real
correspondente ao do consumidor nas escolhas de um produto ou servio, que
venha a lhe agradar, enquanto que em referncia ao fornecedor, implica no direito
de empreender um negcio no mercado, sendo que tal relao observada no
contexto da atividade do Ecoturismo.
vlido destacar que a liberdade do consumidor no corresponde a um
direito ilimitado, tendo em vista que se encontra condicionada a dois fatores que
incidem simultaneamente para seu exerccio, que so o querer aliado ao poder,
cuja ausncia de um, implica na impossibilidade de exerc-lo.
A liberdade do fornecedor tambm evidenciada no artigo 1, inciso IV da
Carta Constitucional, apregoando que a sociedade brasileira fundada em valores
sociais do trabalho e valores sociais da livre iniciativa.
137
Podemos extrair que o empreendedor-fornecedor exerce sua liberdade no
momento em que, possuindo condies de se estabelecer, vem a optar por
empreender frente ao mercado consumidor, assumindo assim, o risco do negcio.
Devemos observar que a livre iniciativa possui tambm conotao social, e
esta caracterstica inerente remete-nos idia de que ela no ilimitada, pois que
todo direito de empreender deve ser exercitado com base na responsabilidade
social, onde, em caso de inobservncia dessa condio, estar sujeito interveno
do Estado, que tem o poder-dever para assegurar a ordem da liberdade.
De outra modo, a questo do exerccio da liberdade referente ao meio
ambiente, implica na possibilidade em utilizarmos os recursos ambientais disponveis
ante sua mltipla finalidade, desde que, isso ocorra em harmonia e respeito ao
quesito de sustentabilidade, devendo sempre ser utilizado de forma planejada e
racional.
Quanto questo referente justia, extramos que uma premissa
extrada do artigo 3 inciso I da CF/88 constitudo outro objetivo fundamental da
Repblica Federativa do Brasil, cujo contexto, elaborado em nossa Carta
Constitucional, busca focar uma realidade social concreta, visando atingir a paz e
harmonia social existente apenas numa sociedade justa.
Sem acepes utpicas, vislumbramos que as desigualdades sociais
sempre existiram, e, possivelmente, sempre far parte de nossa realidade global.
Entretanto, frente aos objetivos focados pelo princpio da justia, devemos garantir
ao menos, que os menos favorecidos possam ter acesso a todas as searas e vias
jurisdicionais em razo da busca da garantia e tutela de seus direitos fundamentais,
sem que ocorram prejuzos de ordem moral ou patrimonial, tendo em vista que a
Constituio Federal pretende alcanar a realizao social real e justa.
9.1.22 Princpio da pobreza e solidariedade
Sabemos que a sociedade um organismo social vivo, passivo de
mudanas sociais que alteram a realidade vigente, e, por isso, caminha ao passo de
constantes evolues sem obstar os percalos que o caminho lhe impe.
138
Sob este enfoque, evidenciamos que a sociedade brasileira em sua
populao formada, em sua grande parte, por pessoas que vivem na linha da
pobreza, quando no esto abaixo dela.
Conhecendo tal situao, o que configura um problema de ordem social,
nossos legisladores constitucionais destacaram dentre seus objetivos, na ocasio
em que confeccionavam nossa Carta Magna de 1988, que teramos a obrigao de
buscar a erradicao da pobreza, vindo essa diretriz a ser insculpida no artigo 3
inciso III da CF/88.
Mas, a defesa do consumidor, em razo de possuirmos uma populao
pobre em sua maioria, no poderia ocorrer de outra maneira a no ser da forma
contundente como a que percebemos, em razo de nossa Constituio Federal de
1988, bem como, em decorrncia da Lei 8.079/91 que institui o Cdigo de Defesa do
Consumidor, cujo objetivo o de proteo do consumidor que se apresenta
hipossuficiente numa sociedade em que predomina a pobreza.
Em se tratando de matria ambiental, destacamos que o objetivo da
erradicao da pobreza, que representa um dos principais problemas da nossa
sociedade, se faz importante, tendo em vista que a condio social de pobreza de
nossa populao tambm contribui para as agresses do meio ambiente, uma vez
que degradam o meio ambiente, muitas vezes em busca de sua prpria
subsistncia, tornando evidente as mazelas sociais que agravam a situao, cujo
combate visa garantir a incidncia de outro princpio importante, que o da
dignidade da pessoa humana.
Complementarmente ao objetivo da erradicao da pobreza, e em
conformidade ao que prescreve o artigo 3 inciso I da CF/88, temos o objetivo de
construir uma sociedade solidria, o que um dever tico da sociedade individual e
coletivamente considerada, para que paute sua atuao de forma imperativa, na
efetivao de assistncia mtua de seus membros, tendo em vista que formam um
todo social.
Tais objetivos, encampados nesse princpio, guardam profunda relao com
o desenvolvimento da atividade do Ecoturismo, tendo em vista que este pretende
alicerar-se nos ditames do desenvolvimento sustentvel.
139
9.1.23 Princpio da harmonizao da atividade econmica
O referido princpio da Harmonizao da Atividade Econmica encontra sua
base constitucional no artigo 170 da CF/88, cujo objetivo redunda em regular as
atividades econmicas, que so pautadas na iniciativa privada, com a pretenso de
harmonizar os fatores contundentes na busca de atingir o desenvolvimento
sustentvel.
Como j foi mencionado, pauta-se a atividade econmica na iniciativa
privada, e, portanto encontra sua base legal no direito a propriedade privada, na
funo social da propriedade, na livre concorrncia, na defesa do consumidor, na
defesa do meio ambiente e na possibilidade de explorao da atividade econmica,
conforme extramos da prpria CF/88.
Observamos que a figura da livre iniciativa deve estar pautada com base na
responsabilidade social, conforme foi destacado, visando atingir a consecuo de
uma sociedade livre, justa e solidria, onde tais objetivos tm por escopo colocar
limites na explorao do mercado de consumo, o qual pertence a toda coletividade,
cuja existncia ocorre em prol de toda a sociedade.
Como destacamos, redunda em uma prerrogativa assegurada de habilitar-se
no mercado consumidor, todo aquele que tiver condies e que pretenda
empreender no mercado consumidor com base na livre concorrncia, cuja
responsabilidade sobre o risco do negcio de sua exclusividade, em que o lucro
obtido dever ser justo e recompensador, sem obstar a responsabilidade social e,
por no ser este um exerccio de direito ilimitado.
Pautando-se a atividade do Ecoturismo nos ditames do desenvolvimento
sustentvel por sua prpria natureza preservacionista, temos que tal princpio possui
importncia justamente para coibir que a atividade se desenvolva sem observncia
ao respeito com o meio ambiente, bem como, aos direitos dos consumidores, ou
seja, dos turistas.
140
9.1.24 Princpio da tolerabilidade ambiental
O princpio da Tolerabilidade Ambiental incide em nosso ordenamento como
a mxima preocupao em razo do desenvolvimento no sentido de sua
sustentabilidade, destacando aqui sua importncia para a atividade do Ecoturismo,
que leva em conta a capacidade que possui o meio ambiente em suportar a
realizao efetiva da atividade ecoturstica, tendo como objetivo, causar o mnimo
impacto ambiental possvel, alcanando a manuteno das prerrogativas naturais e
sociais face ao meio ambiente, de forma a garantir sua utilizao para as presentes
e futuras geraes.
Seguindo essa linha, extramos que o princpio da tolerabilidade ambiental
destaca a importncia e a preocupao com o equilbrio ecolgico em face da
utilizao dos recursos ambientais disponveis, tendo em vista que evidencia que o
meio ambiente possui certo nvel de tolerncia a agresses.
Podemos auferir que o meio ambiente possua a capacidade de suportar
intervenes adversas at certo nvel, ou seja, at um limite considerado, devendo
ser destacado que nem sempre as referidas agresses ou intervenes so
efetivamente causadoras de um prejuzo ou dano qualidade ambiental, uma vez
que sabemos que o meio ambiente possui certa capacidade de auto-regenerao, o
que acontece at certo limite, que sendo ultrapassado resultar por certo em
degradao ambiental.
Evidenciamos que o princpio da tolerabilidade encontra-se inserido em
nossa ordem constitucional por fora do artigo 225, caput, e de seu 1, incisos I, II e
VII da Constituio Federal de 1988, do qual extramos ser o meio ambiente um
direito de todos, de uso comum, sendo essencial sadia qualidade de vida.
Por essa razo, devemos manter o meio ambiente de forma equilibrada
ecologicamente, sendo proteo incumbncia precpua da sociedade e do Poder
Pblico, que devero primar pela preservao e restaurao dos processos
ecolgicos essenciais, devendo, prover o manejo das espcies e dos ecossistemas,
visando a proteo da fauna e da flora ante as intervenes que coloquem em risco
sua funo ecolgica, venha a colocar em risco de extino as espcies, ou ainda,
que submetam os animais a prticas cruis.
141
Considerando o dever de proteo institudo pela Carta Constitucional,
extramos de seu contexto, ser objetivo da proteo ambiental, o equilbrio ecolgico,
tendo por escopo a garantia de uma sadia qualidade de vida para as presentes e
futuras geraes, que, por tal motivo, leva-nos a observar que as intervenes ao
meio ambiente so suportadas at certo limite frente s agresses, cujo momento
em que so ultrapassados, resultam em danos ambientais, passveis de
responsabilizao.
Seguindo esse pensamento, Mirra (2002, p. 101) ressalta que o princpio da
tolerabilidade, em sua sublime conotao interpretativa, no pode ser interpretado
como sendo uma prerrogativa permissiva no sentido do agente poder degradar, mas,
em sentido contrrio, age como um sistema de proteo ambiental que atua de
forma a condicionar a interveno ao meio ambiente, voltada ao objetivo de se
alcanar o desenvolvimento de forma sustentvel, impondo um limite que garanta o
equilbrio ambiental que, por tais motivos, no pode ser entendido no sentido de que
est sendo garantido um direito de poluir, o qual resultaria na gerao de agresses
s quais o meio ambiente no poderia suportar, resultando em prejuzo qualidade
ambiental, o que iria incidir na ocorrncia de dano resultando na responsabilizao
do agente degradador.
No podemos confundir a capacidade do meio ambiente em suportar e auto-
absorver e reciclar, frente s intervenes originadas, com sua capacidade de
regenerao, uma vez que a primeira ocorre quase que imediatamente, enquanto
que a segunda tem como pressuposto para sua autuao, as situaes em que o
princpio da tolerabilidade j foi ultrapassado, tendo assim, originado um dano
ambiental.
O autor acima citado destaca ainda que:
a capacidade de absoro e reciclagem do meio ambiente de que se
cogita aqui no pode ser confundida com a capacidade de
regenerao do meio ambiente. Aquela primeira consiste na aptido
do meio atingido de digerir de certo modo imediatamente e sem dano
os rejeitos que lhe so submetidos, de resistir s perturbaes
impostas; a segunda representa a capacidade do meio ambiente de
recuperar-se quando desequilibrado por alguma perturbao,
supondo um prejuzo j ocorrido, em que o limite de tolerabilidade foi
ultrapassado (MIRRA, 2002, p. 101).
142
Na mesma linha de pensamento, Loubet (apud Mirra, 2002 ano, p. 104)
sinteticamente aduz:
ser extremamente complexo conhecer, estabelecer, encontrar ou
avaliar esse limite de tolerabilidade. Contudo, ele deve ser avaliado
caso a caso, pautando-se principalmente pelo equilbrio entre os
recursos ambientais, pois, uma vez rompido este, com certeza houve
violao tolerabilidade ambiental.
26
vlido ressaltarmos que o presente princpio da tolerabilidade deve ser
interpretado para sua incidncia na ordem legal visando a proteo do meio
ambiente de forma conjunta com outros princpios constitucionais, citando como
exemplo o princpio do desenvolvimento sustentvel, da precauo e preveno, do
poluidor-pagador, dentre outros, que so to importantes quanto estes, em razo do
fato de permitir a matria, certa discricionariedade interpretativa, cujo motivo se
justifica ante a finalidade de se efetivar a proteo pretendida pela Constituio
Federal de 1988, ou seja, a tutela ambiental.
Mirra (2002, p. 108), destaca ainda que
o limite de tolerabilidade das agresses ao meio ambiente, para
caracterizao do dano ambiental nos casos concreto, deve ser
averiguado com todo cuidado e ateno no que se refere ao ponto
mximo aceitvel de interveno, em confronto com a capacidade de
resistncia do meio receptor a determinadas perturbaes,
merecendo ser prestigiada, cada vez mais, a idia de prudncia e
precauo na identificao do limite e, cada vez menos, a de
tolerncia.
Assim, a incidncia do princpio da tolerabilidade ambiental em face da
atividade do Ecoturismo, faz-se importante em razo da denominada capacidade de
carga turstica, cuja definio pode ser extrada dos dizeres de Dias (2003, p. 81)
que afirma ser
o nmero de turistas que podem ser acomodados e atendidos em
uma destinao turstica sem provocar alteraes significativas nos
meios fsico e social e na expectativa dos visitantes. o limite alm
do qual pode ocorrer o abarrotamento, a saturao e o crescimento
dos impactos fsicos.
26
http://www.esmpu.gov.br/publicacoes/meioambiente/pdf/Luciano_F_Loubet_Regime_juridico_do_eco
turismo.pdf, capturado em 27/06/2005.
143
Entendemos assim que a capacidade de carga turstica configura um limite
de intervenes face ao meio ambiente em decorrncia do empreendimento e
realizao da atividade ecoturstica, onde, nas situaes em que forem
ultrapassados, tero como resultados, impactos inaceitveis ao meio ambiente
redundando na causa de um desequilbrio, contrapondo-se assim, ao princpio da
tolerabilidade ambiental.
Finalizamos estas consideraes ao evidenciarmos que a capacidade de
carga no tem o mesmo significado de capacidade de saturao, tendo em vista que
a primeira resulta no sentido de sustentabilidade decorrente do desenvolvimento da
atividade em observncia s prerrogativas ambientais que objetivam a manuteno
do equilbrio ecolgico, sendo que a segunda nos remete idia da existncia de um
limite em razo do meio ambiente que poder ser suportado em decorrncia de
efeitos adversos.
9.2 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO NA CONSTITUIO FEDERAL DE 1988
A atividade do Ecoturismo surge como uma das atividades relacionadas ao
meio ambiente aliada ao interesse econmico, onde ocorre a explorao econmica
em conjunto conservao e preservao da natureza.
Como outra atividade econmica, o Ecoturismo possui sua base
constitucional em nossa Carta Magna, sendo que o Captulo VI do Titulo VIII, que
dispe sobre o Meio Ambiente, j suficiente para regrar a atividade descrita, haja
vista que em sua observncia concreta, os bens ambientais estariam sendo
preservados.
Nos ditames do artigo 225 da CF/88 encontramos as linhas gerais do Direito
Ambiental Brasileiro, destacando o meio ambiente ecologicamente equilibrado como
um direito de todos, importando a toda a sociedade o dever sua defesa, sendo
imposto ao Poder Pblico o dever de zelar pelos ecossistemas, de forma a preservar
a diversidade biolgica e a integridade do patrimnio gentico do pas, observando-
se a proteo especial a determinados sistemas, a realizao de controle ambiental,
144
com a realizao de licenas e fiscalizao do meio ambiente, e ainda, a
responsabilizao pelos danos ambientais.
A essas linhas gerais do Direito Ambiental, ainda podemos somar a
determinao constitucional que determina ser competncia da Unio, Estados,
Distrito Federal e Municpios o dever de promover e incentivar a realizao do
Turismo como fator de desenvolvimento social e econmico, conforme preceitua o
artigo 180 da Constituio Federal vigente.
Aliados a todos esses fatores constitucionais podemos ainda somar o
disposto no artigo 170, inciso V da CF/88, que compe o Captulo I, dispondo sobre
os Princpios Gerais da Atividade Econmica, pertencentes ao Ttulo VII que trata da
Ordem Econmica e Financeira, que preceitua que a ordem econmica, fundada na
valorizao do trabalho da livre iniciativa, visa assegurar a todos a existncia digna,
observados os ditames da justia social, regidas, dentre outros princpios, pela
defesa do meio ambiente, que somando-se a outros princpios ali elencados, temos,
o da soberania nacional, propriedade privada, funo social da propriedade, reduo
das desigualdades sociais, dentre outros, que de forma direta ou indireta, possuem
estreita ligao com a atividade do Ecoturismo.
Ainda para reforar o arcabouo constitucional acerca da atividade do
Ecoturismo, temos a favor o artigo 215 e 216, caput e inciso V, resguardando o
primeiro, dentre suas funes, o da garantia a todos pelo Estado do pleno exerccio
dos direitos culturais e acesso s fontes da cultura nacional, e o segundo, de definir
em linhas gerais que constituem o patrimnio cultural brasileiro, os bens de natureza
material e imaterial, dentre os quais, os conjuntos urbanos e stios de valor histrico,
paisagstico, artstico, arqueolgico, paleontolgico, ecolgico e cientfico, onde
podemos observar que se tratam, ao se adequar a atividade, de potencial
ecoturstico.
Desse modo, ainda que no se tenha abordado os aspectos de defesa
ambiental aplicada atividade do Ecoturismo, haja vista que no diferem de
qualquer outra atividade que possuem relao com o meio ambiente, vislumbramos
que o aparato constitucional aplicado atividade do turismo ecolgico se apresenta
de forma bastante satisfatria.
145
9.3 ASPECTOS INFRACONSTITUCIONAIS APLICADOS A ATIVIDADE DO ECOTURISMO
Como podemos observar, o arcabouo constitucional se apresenta de forma
satisfatria, e, sob o aspecto normativo infraconstitucional brasileiro, podemos
considerar que o favorecimento atividade ecoturstica se faz de forma bastante
abrangente, em que se destaca como um dos principais fatores, a Lei Federal de n
9.985 de 18 de julho de 2000 que dispe sobre o Sistema Nacional de Unidades de
Conservao da Natureza (SNUC), e que ser abordada mais adiante.
A atividade do Ecoturismo j vinha sendo prevista em nosso ordenamento
jurdico antes mesmo da vigncia de nossa Carta Magna, conforme podemos
evidenciar com a Lei 6.513/77 ainda em vigncia e que trata das reas de Interesse
Turstico, tendo esta sido recepcionada pela CF/88. A referida lei ao dispor em seu
artigo 1 sobre as reas de interesse turstico, arrola diversos bens ambientais, como
os bens de valor histrico, paisagstico, artstico, arqueolgico ou pr-histrico;
reservas e estaes ecolgicas; reas destinadas proteo de recursos naturais
renovveis; paisagens notveis; manifestaes culturais ou etnolgicas e os locais
onde ocorram; localidades e os acidentes naturais adequados ao repouso e a prtica
de atividades recreativas, desportivas ou de lazer; fontes hidrominerais
aproveitveis; localidades que apresentam condies climticas especiais; e outros
casos que se adequarem ou que possam ser definidos como reas de interesse
turstico.
Da referida lei podemos extrair que da unio do patrimnio natural com o
patrimnio cultural temos quase todos os alicerces sobre os destinos tursticos, onde
os dois tipos elencados representam importante papel, valendo ainda ser
mencionado a latente preocupao com a preservao j existente no diploma legal
mencionado.
Para evidenciar a preocupao com o meio ambiente, destacamos o artigo
7, 3, que prev como condio para utilizao de determinadas reas para fins
tursticos, o projeto de manejo dos Parques e Reservas, e ainda, o artigo 11, que
prev os requisitos legais para a elaborao e execuo de planos e programas
destinados a promover o desenvolvimento turstico; assegurar a preservao e
valorizao do patrimnio cultural e natural; estabelecer normas de uso e ocupao
146
do solo; e, orientar a alocao de recursos e incentivos necessrios a atender aos
objetivos e diretrizes existentes.
Neste mesmo diapaso segue o artigo 12 da referida lei, que classifica as
reas de interesse turstico em categorias assim dispostas:
Art. 12. AS reas Especiais de Interesse Turstico sero classificadas
nas seguintes categorias:
I - Prioritrias: reas de alta potencialidade turstica, que devam ou
possam ser objetos de planos e programas de desenvolvimento
turstico, em virtude de:
a) ocorrncia ou iminncia de expressivos fluxos de turistas
visitantes;
b) existncia de infra-estrutura turstica urbana satisfatria, ou
possibilidade de sua implementao;
c) necessidade da realizao de planos e projetos de preservao ou
recuperao dos Locais de Interesse Turstico nelas includos;
d) realizao presente ou iminente de obras pblicas ou privadas,
que permitam ou assegurem acesso rea, ou a criao da infra-
estrutura mencionada na alnea b;
e) convenincia de prevenir ou corrigir eventuais distores do uso
do solo, causadas pela realizao presente ou iminente de obras
pblicas ou privadas, ou pelo parcelamento e ocupao do solo;
II - de Reserva: reas de elevada potencialidade turstica, cujo
aproveitamento deva ficar na dependncia:
a) da implantao dos equipamentos de infra-estrutura indispensveis;
b) da efetivao de medidas que assegurem a preservao do
equilbrio ambiental e a proteo ao patrimnio cultural e natural ali
existente;
c) de providncias que permitam regular, de maneira compatvel com
a alnea precedente, os fluxos de turistas e visitantes e as atividades,
obras e servios permissveis.
Por certo, ainda podemos evidenciar que foi prevista nos artigo 13 e 17 da
referida lei, a criao de rea Especial de Interesse Turstico por ato administrativo,
em que deve ser contemplada delimitaes e caracterizao da rea e a fixao de
diretrizes gerais de uso e ocupao do solo, e, alm disso, nos artigos 15 e 16,
foram previstos a elaborao de planos e programas vinculativos nos quais os rgo
tcnicos responsveis poderiam impor as devidas restries que se fizerem
necessrias para assegurar a preservao, restaurao, recuperao ou valorizao
da rea de Especial Interesse Turstico.
Ao evidenciarmos os pontos destacados da Lei n 6.513/77, vrios dos
problemas que cercam e limitam a atividade do Ecoturismo estariam solucionados se
de fato fossem aplicados seus dispositivos. Entretanto, podemos ainda destacar a
147
Lei Federal 8.181/91 que prev estmulos s iniciativas que visem preservar o
ambiente natural e a fisionomia scio-cultural dos locais considerados tursticos,
como tambm, das populaes afetadas pelo seu desenvolvimento.
Outro importante diploma legal para a atividade do Ecoturismo a Lei
6.938/81 que dispe sobre a poltica Nacional do Meio Ambiente, destacando entre
seus instrumentos teis para o setor ecoturstico, o zoneamento ambiental e a
criao de espaos territoriais especialmente protegidos.
O licenciamento ambiental outro instrumento que merece destaque, haja
vista que seu alcance est adstrito a todas as atividades potencialmente poluidoras,
e que tambm deve ser aplicado atividade do Ecoturismo, pois visa proteger os
bens ambientais envolvidos na realizao da referida atividade, devendo-se tal
assertiva ao fato de que o turismo ecolgico poder estar condicionado ao
licenciamento ambiental conforme previso aos complexos tursticos e de lazer
institudo pela Resoluo CONAMA de n 237/97.
Ademais, existem outras resolues que viabilizam a realizao da atividade
ecoturstica em observncia ao objetivo da proteo ambiental, em que destacamos
a Resoluo CONAMA n 341/03, que dispe sobre critrios para a caracterizao
de atividades ou empreendimentos tursticos sustentveis como de interesse social
para fins de ocupao de dunas originalmente desprovidas de vegetao, na zona
costeira, que vem a possibilitar a explorao para o turismo sustentvel, em razo
das belezas cnicas e paisagsticas que envolvem as dunas, de sua importncia e
da manuteno de seus atributos naturais.
Tal resoluo mencionada prev em seu artigo 2 que:
Podero ser declarados de interesse social, mediante procedimento
administrativo especfico aprovado pelo Conselho Estadual de Meio
Ambiente, atividades ou empreendimentos tursticos sustentveis em
dunas originalmente desprovidas de vegetao, atendidas as
diretrizes, condies e procedimentos estabelecidos nesta
Resoluo.
De outro modo, tambm destacamos a Resoluo CONAMA n 347/04, que
dispe sobre a proteo do patrimnio espeleolgica, e em suas consideraes
evidencia que:
148
As cavidades naturais subterrneas existentes no territrio nacional
constituem bens da Unio de que trata o art. 20, inciso X, da
Constituio Federal, impondo-se a necessidade de sua preservao
e conservao de modo a possibilitar estudos, pesquisas, e
atividades de ordem tcnico-cientfica, tnica, cultural, espeleolgica,
turstico, recreativo e educativo.
Ademais, em seu artigo 6, tal resoluo em comento, determina que:
Os empreendimentos ou atividades tursticos, religiosos ou culturais
que utilizem o ambiente constitudo pelo patrimnio espeleolgico
devero respeitar o Plano de Manejo Espeleolgico, elaborado pelo
rgo gestor ou proprietrio da terra onde se encontra a caverna,
aprovada pelo IBAMA.
Como se pode perceber, o CONAMA atravs da edio de suas resolues
e de sua competncia institucional vem buscando regulamentar aspectos
importantes para viabilizao da atividade do turismo sustentvel.
Outro aspecto que merece ser enfocado, ainda que de forma genrica
refere-se extensa faixa litornea, que redunda em importante recurso ecoturstico,
o que torna as normas de gerenciamento costeiro de suma relevncia. Podemos
citar a Lei n 7.661/88 que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro que
destacou como prioridades a conservao e proteo dos recursos naturais, dos
stios ecolgicos e dos monumentos do patrimnio natural e cultural.
Sendo a gua um dos potenciais recursos naturais para a atividade do
Ecoturismo, toda e qualquer legislao pertinente conservao e preservao
desses recursos constituem um aparato legal importante para o turismo ecolgico,
valendo ressaltar o Cdigo de guas, institudo pelo Decreto 24.643/34 e a Lei
9.433/97 que trata da Poltica Nacional dos Recursos Hdricos e cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos.
Outro aspecto importante e que merece ser mencionado de forma sucinta,
diz respeito proteo do patrimnio espeleolgico pela Resoluo n 005/87 do
CONAMA, que torna obrigatria a elaborao de Estudo de Impacto Ambiental para
as situaes que envolvam empreendimentos potencialmente lesivos ao referido
patrimnio, e recomenda que o patrimnio espeleolgico receba a mesma ateno
dispensada ao patrimnio arqueolgico pelo IPHAN.
149
Com o Decreto Federal de n 99.556/90, ampliou-se de forma generosa a
proteo do patrimnio espeleolgico, onde foi descrita a potencialidade de tal
patrimnio para a realizao do turismo recreativo e educativo, no qual posiciona-se
a atividade do Ecoturismo, sendo certo que sua prtica em cavidades naturais
subterrneas deve ser pautada na preservao integral do bem ambiental, sendo
preservao e conservao obrigatrias conforme preceitua o artigo 1 do referido
dispositivo.
O Cdigo Florestal outro diploma que interessa atividade do Ecoturismo,
haja vista seu contedo de preservao de reas onde possa ser desenvolvida tal
atividade, como o disposto no artigo 3 alnea e que considera de preservao
permanente as florestas e demais formas de vegetao natural destinadas a
proteger stios de excepcional beleza ou valor cientfico e paisagstico, ou artigo 16,
que se refere s reas de reserva legal de vegetao nativa.
Evidenciamos que as normas sobre a atividade da pesca tambm
interessam ao Ecoturismo, podendo o mesmo ser associado prtica da pesca
desportiva ou amadorstica, no cabendo, entretanto, maiores aprofundamentos,
mas, vale ressaltar que necessria a licena ou dispensa para a prtica, conforme
dispe o artigo 1, inciso VI da Lei 7.679/88 e artigo 29 do Decreto-Lei 221/67, bem
como, deve ser observado o perodo de interdio e os limites impostos pesca
amadorstica.
Sendo a atividade do Ecoturismo visivelmente ligada ao sentimento de
preservao do meio ambiente, a Lei Federal n 9.765/99 que trata da Educao
Ambiental, vislumbrando tal contexto, determina que o Poder Pblico incentive sua
prtica, pelo que podemos concluir que um significativo sinal de que tal atividade
importante para aflorar a conscientizao das pessoas para a preservao do meio
ambiente.
Desse modo, passamos a considerar algumas propostas de Resoluo do
CONAMA que esto na pauta de discusses para reger ainda mais a atividade do
Ecoturismo, sendo que a primeira proposta versa sobre o ecoturismo, sua
regionalizao, competncia, bem como as prioridades para os benefcios e o
acompanhamento do desempenho da atividade, e, como poderemos observar revela
150
o interesse de que parte dos resultados advindos deve reverter s populaes
locais, verbis:
Art. 1. O Ecoturismo um segmento da atividade turstica que
utiliza, de forma sustentvel, os patrimnios natural e cultural,
incentiva a sua conservao, busca a formao de uma conscincia
ambiental por meio da correta interpretao dos sistemas naturais e
promove o bem estar das populaes locais.
Art. 2. O Ecoturismo dever assegurar, com suas atividades e
produtos, benefcios econmicos, sociais, culturais e ambientais,
gerando emprego e renda, preferencialmente s populaes locais,
visando o uso sustentvel dos patrimnios natural e cultural.
Art. 3. O Ecoturismo dever respeitar a fragilidade dos ecossistemas
e patrimnios culturais, principalmente adequando o nmero de
visitantes capacidade de carga, previamente definida em estudo
tcnico fundamentado apresentado aos rgos competentes.
Art. 4. O Ministrio do Meio Ambiente e o Ministrio do Esporte e
Turismo, em conjunto, devero estabelecer, ouvido o CONAMA e
respeitando as Diretrizes para uma Politica Nacional de Ecoturismo,
as polticas do Ecoturismo e seus instrumentos, no prazo de 180 dias
da data da publicao desta Resoluo.
Pargrafo nico. O CONAMA dever estimular aos rgos estaduais
e municipais a criao de polticas e seus instrumentos, que atendam
aos interesses regionais / locais, compatibilizando o desenvolvimento
do Ecoturismo com os planos de desenvolvimento regionais.
Art. 5. Caber aos Governos dos Estados, Municpios e ao Distrito
Federal o licenciamento, a autorizao ou o credenciamento de
servios, equipamentos e atividades ecotursticas, de acordo com
esta Resoluo e demais disposies legais pertinentes.
Pargrafo nico. Os rgos municipais para exercerem as
atribuies constantes no caput do artigo, devero possuir Conselho
Municipal de Meio Ambiente deliberativo, Conselho Municipal de
Turismo deliberativo e rgo ambiental em funcionamento.
Art. 6. Caber aos Governos Estaduais, Municipais e ao Distrito
Federal a fiscalizao do Ecoturismo promovendo a aplicao das
penas previstas na legislao vigente.
Art. 7. Os projetos e produtos ecotursticos, que assegurem
elevados ndices de sustentabilidade scio-ambiental sero
recomendados para aprovao, obteno de estmulos, incentivos e
benefcios. Estes projetos e produtos devem ser coerentes com as
Diretrizes para uma Poltica Nacional de Ecoturismo e com o
planejamento turstico ou de desenvolvimento regional, se houver.
Os projetos que no sigam estas diretrizes no podero receber
qualquer tipo de apoio ou financiamento governamental.
Art. 8. O CONAMA dever receber bienalmente do Ministrio do
Meio Ambiente um relatrio circunstanciado referente ao
desenvolvimento do Ecoturismo, Estado por Estado, visando a
implementao de um banco de dados que venha compor um centro
nacional de referncia do Ecoturismo, centralizando as informaes
sobre o tema.
151
Art. 9. Esta resoluo entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
A referida proposta tambm possui como escopo a adequao da questo
do licenciamento, autorizao ou credenciamento das atividades ecotursticas,
afirmando para tanto, a competncia dos Estados e Municpios, dependendo do
porte do empreendimento.
Tambm so previstos na proposta em questo, incentivos e benefcios para
projetos e produtos ecotursticos que possam assegurar regio, altos ndices de
sustentabilidade scio-ambiental, sendo que esta possibilidade pode ser positivada,
onde quem concede um benefcio, pode exigir uma contrapartida de natureza social
ou ambiental.
A outra proposta a ser apreciada refere-se aos procedimentos para o
licenciamento especfico de atividades ecotursticas que possui o seguinte teor:
Art. 1. Estabelecer normas para o licenciamento ambiental
especfico para stios e atrativos ecotursticos, e diretrizes para o
planejamento, a operacionalizao e a avaliao do desempenho
das atividades de ecoturismo e demais atividades tursticas
realizadas em ambiente natural.
1. Para efeito de aplicao deste artigo, considera-se stios e
atrativos ecotursticos todo e qualquer espao geogrfico, pblico ou
privado, cujos recursos naturais sejam utilizados para fins de lazer
e/ou recreao.
2 A atividade de ecoturismo desenvolvida em Unidades de
Conservao obedecer a legislao especfica.
Art. 2. A utilizao dos stios e atrativos dever ser planejada e
desenvolvida de modo a respeitar a fragilidade dos ecossistemas e
do patrimnio cultural, cabendo ao rgo estadual ambiental
competente a emisso do licenciamento.
Pargrafo nico. Os municpios que tiverem Conselho Municipal do
Meio Ambiente deliberativo e representativo podero, mediante
convnio, receber do Governo do Estado delegao de competncia
para o licenciamento ambiental, de conformidade com o disposto no
artigo 12 da Resoluo CONAMA n 237/97.
Art. 3. Para obteno do licenciamento ambiental ecoturstico os
proprietrios e responsveis por stios e atrativos ecotursticos
devero apresentar ao rgo ambiental competente, no mnimo e
sem prejuzo das demais exigncias legais, o Plano de
Desenvolvimento e Gesto Ecoturstico (PDGE), constantes no
Anexo I.
1. O Plano de Desenvolvimento e Gesto Ecoturstico (PDGE) a
que se refere o caput deste artigo um instrumento especfico de
152
planejamento e gesto da atividade ecoturstica dos stios e seus
recursos naturais, onde se define o compromisso e a
responsabilidade scio-ambiental do empreendedor pblico e
privado, na implantao e manejo de produtos, projetos e servios
ecotursticos.
2. A elaborao e aplicao do PDGE ser de responsabilidade do
proprietrio ou responsvel legal pelo stio ou atrativo ecoturstico, de
carter pblico ou privado.
3. O PDGE ser utilizado como referncia tcnica para efeito de
fiscalizao e controle pelo rgo ambiental competente.
Art. 4. Os procedimentos estabelecidos nesta Resoluo devero
ser aplicados a todas as atividades ecotursticas.
Pargrafo nico. Os proprietrios e os responsveis legais pelos
stios e atrativos ecotursticos que estiverem operando na data da
publicao desta Resoluo devero:
I. Apresentar ao rgo ambiental competente, no prazo de at 90
(noventa) dias, a ficha cadastral constante do Anexo II desta
Resoluo;
II. Apresentar o PDGE ao rgo ambiental competente, no prazo de
at 270 (duzentos e setenta) dias.
Art. 5. Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao.
Merece ser destacado em relao segunda proposta a remisso feita em
relao atividade do Ecoturismo nas Unidades de Conservao, em que dever
ser respeitada a legislao especfica, pois que em unidades de conservao, as
atividades possuem regras prprias para gesto.
O outro aspecto que deve ser mencionado em relao referida proposta
refere-se a previso de apresentao de um Plano de Desenvolvimento e Gesto
Ecoturistica (PDGE), que ter considervel abrangncia, o qual podemos observar
ao evidenciarmos o anexo I da dita proposta, in verbis:
1. O PDGE dever conter, no mnimo, os seguintes elementos:
2. Descrio da rea;
3. Caracterizao dos recursos naturais, histricos e culturais
disponveis e utilizados no stio com o zoneamento das reas de uso
intensivo, extensivo e restrito;
4. Memorial descritivo dos equipamentos tursticos: dos
equipamentos de hospedagem, alimentao, sanitrios, lazer e infra-
estruturas de apoio visitao, assim como das condies de
circulao e estacionamento de veculos, e seus respectivos
cronogramas de implantao;
5. Relacionar as medidas adequadas para tratamento de efluentes e,
disposio de resduos slidos;
153
6. Descrio das atividades ecotursticas desenvolvidas com
detalhamento de uso e perfil de pblico atendido;
7. Definio dos riscos envolvidos nas atividades e dos
procedimentos de segurana adotados;
8. Definio do nmero ideal de usurios por atividade, com plano de
monitoramento dos impactos da visitao e mecanismos de controle;
9. Estratgias e programas de gesto, aes educativas e de
interpretao ambiental;
10. Mapa com planta ilustrando as infra-estruturas descritas;
11. Apresentao do comprovante de propriedade, inscrio no
CNPJ e assinatura do empreendedor e tcnico legalmente
responsvel.
Assim, para encerrarmos nossas consideraes sobre o ordenamento
jurdico infraconstitucional, destacamos que no que concerne aos impactos
ambientais, o PDGE apresenta-se de modo satisfatrio, mas, poder haver
complementao regional a nvel estadual e municipal, ressaltando-se que podero
ser feitas exigncias especficas e adequadas licena ambiental que restar
pretendida.
9.4 AS UNIDADES DE CONSERVAO COMO INSTRUMENTOS VIABILIZADORES
DO ECOTURISMO E DA PROTEO DO MEIO AMBIENTE.
As denominadas unidades de conservao guardam estrita relao com a
atividade do Ecoturismo, haja vista que visam o gerenciamento dos recursos
naturais de forma sustentvel, definindo reas de proteo integral e reas de uso
sustentvel do meio ambiente, o que redunda num importante instrumento de
proteo ambiental.
A necessidade de se criar reas de proteo ambiental tem seu surgimento
atrelado ao prprio surgimento dos direitos difusos e coletivos, enfocado com o
advento da Revoluo Industrial, diante da necessidade de preservar o meio
ambiente face s interferncias destrutivas do ser humano no exerccio capitalista
27
,
visando garantir uma sadia qualidade de vida e proteger a biodiversidade existente,
27
http://www.arq.ufsc.br/infoarq/A_atividade_turistica_como_ferramenta.html, capturado em 12 de
janeiro de 2005.
154
criou-se, em 1.872, a primeira Unidade de Conservao, o Parque Nacional de
Yellostone.
28
As unidades de conservao so integrantes do Sistema Nacional DE
Gerenciamento de Unidade de Conservao (SNUC), institudas pela Lei
9.985/2000, sendo divididas em dois grupos: as Unidades de Proteo Integral e as
Unidades de Desenvolvimento Sustentvel.
O primeiro grupo refere-se s Unidades de Proteo Integral e, composto
por cinco categorias descritas como: Estao Ecolgica; Reserva Biolgica; Parque
Nacional; Monumento Natural e Refgio de Vida Silvestre.
O segundo grupo composto por sete categorias e concernem s Unidades
de Uso Sustentvel assim dispostas: rea de Proteo Ambiental, rea de
Relevante Interesse Ecolgico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de
Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentvel; e, Reserva Particular do
Patrimnio Natural.
As Estaes Ecolgicas objetivam a preservao da natureza e a realizao
de pesquisas cientficas. As Reservas Biolgicas objetivam a preservao integral da
biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem que haja
interferncia humana direta ou modificaes ambientais, salvo as medias de
recuperao de seus ecossistemas alterados e as aes de manejo necessrias
para recuperar e preservar o equilbrio natural, a diversidade biolgica e os
processos naturais, conforme dispe respectivamente o caput do artigo 9, e do
artigo 10 da Lei 9.985/2000, sendo que nas duas unidades no permitida a
visitao pblica, excetuando-se para fins educacionais.
28
A idia de diminuir as interferncias humanas destrutivas sobre o meio ambiente tem incio na
Europa, principalmente na Inglaterra, bero da Revoluo Industrial. Inmeros impactos de ordem
scio-ambientais so verificadas nesse momento, devido principalmente, ao crescimento
populacional desordenado das grandes cidades, e motivado pelas instalaes de inmeras
indstrias txteis que demandavam mo de obra. Este cenrio promoveu o surgimento da
necessidade de contemplao da natureza, e o incio de uma conscincia ecolgica que
impulsionou algumas discusses de como conservar as reas representativas da vida natural no
planeta. Estas idias se expandem por vrias regies do planeta, e no ano de 1872, os Estados
Unidos, com o intuito de proteger e manter a diversidade biolgica, cria o Parque Nacional de
Yellowstone, a primeira Unidade de Conservao criada no mundo. Segundo Miller (1980), a
regio foi reservada e proibida de ser colonizada, ocupada ou vendida. Foi designada como
parque pblico ou rea de recreao para benefcio e desfrute da populao, e toda pessoa que
ocupasse a rea desrespeitando as normas vigentes, seria considerada infratora.
155
Temos ainda o Parque Nacional que tem por objetivo a preservao dos
ecossistemas naturais de grande relevncia ecolgica e beleza cnica, de forma a
possibilitar a realizao de pesquisas cientficas e o desenvolvimento de atividades
de educao e interpretao ambiental, de recreao em contato com a natureza, e,
de turismo ecolgico, sendo que esta unidade vem disposta no caput do artigo 11 da
referida lei, sendo possvel a visitao publica, mas, os parques so de domnio
pblico.
O Monumento Natural tem como objetivo a preservao de stios naturais
raros, singulares ou de grande beleza cnica, e, por fim, o Refgio da Vida Silvestre
visa proteger ambientes naturais onde se asseguram condies para a existncia ou
reproduo de espcies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou
migratria, sendo que estas unidades esto previstas respectivamente no caput dos
artigos 12 e 13 da lei mencionada, merecendo ser observado que possvel a
visitao pblica, bem como a existncia das mesmas em propriedade privada, mas
assim como os parques nacionais, a visitao est sujeita s condies e restries
estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, as normas estabelecidas pelo rgo
competente e as que estiverem previstas em regulamento.
No que se refere rea de Proteo Ambiental, esta se caracteriza por ser
em geral de vasta extenso, com certo grau de ocupao humana e dotada de
atributos abiticos, biticos, estticos ou culturais especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populaes humanas, tendo como objetivo,
proteger a diversidade biolgica, disciplinar o processo de ocupao, e, assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais, conforme disposto no caput do artigo
15 da Lei do SNUC.
A rea de Relevante Interesse Ecolgico uma rea que em geral tem
pequena extenso, pouca ou nenhuma ocupao humana, possuindo caractersticas
naturais extraordinrias ou que abriga exemplares raros da biota regional, possuindo
como objetivo, manter os ecossistemas naturais de importncia regional ou local e
regular o uso admissvel dessas reas, de modo a ser compatibilizado com os
objetivos de conservao da natureza, sendo tal, disposto no caput do artigo 16 da
referida lei.
156
Temos ainda a Floresta Nacional que se caracteriza como uma rea com
cobertura florestal de espcies predominantemente nativas e tem como objetivo
bsico, o uso mltiplo sustentvel dos recursos florestais e a pesquisa cientfica com
nfase em mtodos para explorao sustentvel de florestas nativas, estando
previsto no caput do artigo 17 da Lei do SNUC.
No que tange Reserva Extrativista, temos que a unidade caracteriza-se
como uma rea utilizada por populaes extrativistas tradicionais, cuja subsistncia
baseia-se no extrativismo, e, complementarmente, na agricultura de subsistncia e
na criao de animais de pequeno porte, objetivando proteger os meios de vida e a
cultura dessas populaes, e assegurar o uso sustentvel dos recursos naturais da
unidade, conforme preceitua o caput artigo 18 da Lei do SNUC.
Em relao Reserva de Fauna, temos que a mesma caracteriza-se por ser
uma rea natural com populaes animais de espcies nativas, terrestres ou
aquticas, residentes ou migratrias, adequadas para estudos tcnico-cientficos
sobre o manejo econmico sustentvel de recursos faunsticos, estando prevista no
caput do artigo 19 da mencionada lei.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentvel uma rea natural que abriga
populaes tradicionais cuja existncia baseia-se em sistemas sustentveis de
explorao dos recursos naturais desenvolvidos ao longo de geraes e adaptados
s condies ecolgicas locais e que desempenham um papel fundamental na
proteo da natureza e na manuteno da diversidade biolgica, e, por fim, a
Reserva Particular do Patrimnio Natural uma rea privada e gravada com
perpetuidade, cujo objetivo redunda em conservar a diversidade biolgica, estando
previstas respectivamente nos caput do artigo 20 e 21 da Lei do SNUC.
Dentre todas as categorias de Unidades de Uso Sustentvel, vislumbra-se
que permitida a visitao pblica, quando respeitadas as regulamentaes e
limitaes legais, mas, podemos afirmar, que tal situao permite a possibilidade de
se desenvolver o setor turstico nas nessas reas, assim como as outras em que
permitida a visitao pblica, ainda que pertencentes as Unidades de Proteo
Integral.
157
Sabemos que Cerca de 3,9% do territrio nacional esto sob a proteo
federal na forma de diferentes categorias, distribudas em 35 Parques Nacionais, 23
Reservas Biolgicas, 21 Estaes Ecolgicas, 16 reas de Proteo Ambiental
(APAs), 9 Reservas Extrativistas e 39 Florestas Nacionais, bem como, inmeras
Reservas Particulares de Patrimnio Natural (RPPNs)
29
.
Feitas estas ponderaes, determinamos que as unidades de conservao
estipuladas pela Lei 9.985/2000 merecem destaque para o desenvolvimento do setor
ecoturstico e para a preservao da fauna, no exato sentido de que o turismo
ecolgico em sua maioria desenvolvido envolvendo unidade de conservao
ambiental, tanto nas unidades de domnio pblico, quanto nas unidades de
propriedade privada, o que possibilita a manuteno e expanso da atividade do
Ecoturismo.
O turismo em unidades de conservao da natureza previsto de forma
geral nos artigos 4, XII e 5, IV, da Lei 9.985/2000, o em reputa em atividade
expressamente desejvel nas referidas unidades.
Ressalta-se que o Ecoturismo desenvolvido nas unidades de conservao
ambiental de propriedade pblica no deve gerar maiores preocupaes em relao
defesa do meio ambiente, haja vista que pela prpria natureza do domnio pblico,
permitido ao Poder Pblico, usando de sua discricionariedade, impor limites
visitao, bem como, s atividades a serem desenvolvidas, tendo, sobretudo, as
normas que regem a conservao das unidades envolvidas.
Podemos afirmar que a atividade do Ecoturismo nas unidades de
conservao, em algumas categorias, expressamente vedada, salvo a
contemplao distncia, mas, em suma maioria possvel o seu desenvolvimento.
Nas Estaes Ecolgicas e nas Reservas Biolgicas onde proibida a
visitao pblica, a no ser para fins educacionais, o Ecoturismo proibido, pois se
percebe que h um interesse maior a qualquer projeto que se alie explorao
econmica, que a preservao da biota nestas unidades, impondo-se limites
rgidos alterao do ecossistema.
29
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&conteudo=./ecotu
rismo/potencial_br.html
158
Na Reserva da Fauna, a visitao pode ser permitida, o que viabiliza a
atividade ecoturstica, assim como nos Monumentos Naturais Refgios da Vida
Silvestre, reas de Proteo Ambiental e florestas Nacionais, mas, nas unidades de
conservao a visitao controlada.
Em relao s reas de Proteo Ambiental, destacamos o artigo art. 2 da
Resoluo CONAMA n 010/88, que prev a existncia de um zoneamento
ecolgico-econmico, o que permite a realizao da atividade do Ecoturismo.
No caso dos Parques Nacionais, estes so tidos como adequados para a
visitao recreativa, o que nos faz concluir que esta unidade pode ser considerada
uma das mais apropriadas para o ecoturismo, ressalvando-se que no afastada a
possibilidade de serem impostas condies para adentrar a referida unidade, uma
vez que a imposio de algumas condies para a visitao torna-se essencial para
resguardar o patrimnio natural da unidade.
Nas Reservas Extrativistas, a visitao permitida, o que possibilita a estas
unidades prestar-se atividade ecoturstica, assim, como, nas Reservas de
Desenvolvimento Sustentvel onde a visitao incentivada, e nas Reservas
Particulares do Patrimnio Natural que prev de forma expressa a visitao com
objetivos tursticos e recreativos, mas, neste caso, deve ser observada a
necessidade de autorizao ou licena, conforme previsto do Decreto Federal n
1.922/96.
Apesar de que a Lei do SNUC no ter previsto a visitao nas reas de
Relevante Interesse Ecolgico, em princpio tal uso no deve ser considerado como
proibido, tendo em vista que a Resoluo CONAMA n 002/88 permite nesta
unidade, o pastoreio equilibrado que representa uma atividade potencialmente mais
lesiva para o meio ambiente que o ecoturismo, mas deve ser ressalvado que tal
unidade caracteriza-se por ser dotada de bens naturais extraordinrios ou por servir
de abrigo para exemplares raros da biota regional o que recomenda o uso
ecoturstico realizado com cautela.
Ressalta-se que o turismo realizado em unidades de conservao ambiental,
no deve ir contra os preceitos da criao destas unidades, que se resumem em
preservao da diversidade biolgica, das espcies ameaadas de extino,
159
conservao ou a recuperao da qualidade ambiental e a proteo dos recursos
naturais que se fazem necessrios para a subsistncia de populaes tradicionais e
dependentes do ambiente em que vivem.
O plano de manejo das unidades de conservao ambiental condio
prvia para que o ecoturismo seja desenvolvido nessas reas, sendo isso disposto
no artigo 28, pargrafo nico, da Lei 9.985/2000, e alm dessa exigncia, temos a
assertiva de que o turismo em unidades de conservao deve observar de forma
rigorosa as restries e proibies permanentes ou temporrias de cada unidade
que podem estar relacionadas com vrios aspectos de impactos ambientais como a
caa, a pesca, a introduo de animais domsticos ou coleta de espcimes da fauna
e da flora.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente tem realizado a divulgao de vrias
oportunidades de negcios em parques nacionais, direcionadas possibilidade de
desenvolvimento do Ecoturismo, sendo ofertadas para a iniciativa privada vrias
atividades como passeio de barco, mergulho, trilhas, ciclismo, camping, lojas,
restaurante, trem interno, estacionamento, dentre outras atividades que bem
representam as multifaces do potencial de desenvolvimento ecoturstico dos parques
nacionais.
Vale mencionar ainda que est prevista a promoo de servios de lazer,
visitao pblica, publicidade, ecoturismo e outros servios similares em unidades
de conservao federais, no Decreto Federal n 3.059/99 em seu Anexo, art. 2,
inciso XVI, alnea a.
De outro modo, identificamos como problemas para efetivao da proteo
ambiental atravs da criao de Unidades de Conservao, o fato de existirem reas
com enorme importncia ambiental e que deveriam ser protegidas atravs das
mesmas, o que no se percebe em muitos casos.
Tambm existe a necessidade de se ampliar o nmero de unidades hoje
existentes, mas, outro problema que se torna latente, que atualmente, as unidades
de conservao existentes enfrentam grande problema de fiscalizao, manuteno
e implantao, seja por falta de efetivo, em nmero e qualificao, problemas
burocrticos e financeiros ou por problemas oramentrios e de infra-estrutura.
160
Por fim, destaca-se que outro grande problema em relao a implementao
das Unidades de Conservao, ainda se refere a uma questo primria, que a falta
da regularizao fundiria, tendo como exemplo, o Parque Nacional de Itatiaia, que,
desde sua criao em 1937 at os dias atuais, no havia sido demarcado
definitivamente.
10 LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA ATIVIDADE DO ECOTURISMO
Como j evidenciamos em tpicos anteriores, resta claro que a atividade do
Ecoturismo, por ser uma atividade tipicamente econmica realizada utilizando
como objeto principal o meio ambiente e fazendo-o de forma sustentvel,
desenvolvendo assim a conscientizao ecolgica, bem como, preserva o direito ao
ambiente para as presentes e futuras geraes.
Considerando a afirmativa de que o Ecoturismo uma atividade comercial
tpica, e, portanto, possuindo objetivos econmicos diretos e indiretos, observamos
que tais caractersticas motivam a necessidade de realizao de licenciamento
ambiental, premissa para a realizao de qualquer empreendimento, o qual deve ser
respeitado o disposto na Resoluo CONAMA n 237/97.
vlido observar o que dispe o artigo 1, I da referida Resoluo CONAMA
n 237/97, que define o licenciamento ambiental como sendo o
procedimento administrativo pelo qual o rgo ambiental competente
licencia a localizao, instalao, ampliao e a operao de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que,
sob qualquer forma, possam causar degradao ambiental,
considerando as disposies legais e regulamentares e as normas
tcnicas aplicveis ao caso.
De outro lado, complementando o contedo do dispositivo legal mencionado,
observamos o que vem disposto no inciso I do mesmo artigo 1, I da referida
Resoluo CONAMA n 237/97, o qual define licena ambiental como o
ato administrativo pelo qual o rgo ambiental competente
estabelece condies, restries e medidas de controle ambiental
que devero ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa fsica ou
jurdica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos
ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquela que, sob qualquer
forma, possam causar degradao ambiental.
162
Destaca-se que o licenciamento ambiental com previso legal vigente,
disposta na Resoluo CONAMA n 237/97, divide-se em licena prvia, licena de
instalao, e, licena de operao ou de funcionamento.
A Licena Prvia, prevista no artigo 8, I da Resoluo CONAMA n 237/97,
resume-se naquela concedida na fase preliminar do planejamento, em razo da
atividade ou empreendimento que se pretende realizar, visando aprovao quanto
a localizao e concepo do mesmo, bem como, exibir sua viabilidade ambiental e
estabelecer os critrios e requisitos que devero ser observados e atendidos para as
prximas fases do procedimento ambiental do licenciamento, e ter validade mxima
de cinco anos, em razo do artigo 18, I do diploma mencionado.
Podemos definir a Licena de Instalao, cuja previso vem insculpida no
artigo 8, II da Resoluo CONAMA n 237/97, como sendo a licena que sucede a
licena prvia, e vem autorizar a instalao do empreendimento ou atividade, em
observncia s especificaes contidas nos planos, programas e projetos
aprovados, inserindo-se neste contexto as medidas e condicionantes de controle
ambiental, onde estas configuram motivo determinante, tendo validade mxima de
seis anos, em razo do artigo 18, II da resoluo evocada.
Por fim, em razo do que dispe o artigo 8, II da Resoluo CONAMA n
237/97, evidenciamos no procedimento do licenciamento, a licena de operao, que
pode tambm ser definida como licena de funcionamento, sendo que esta sucede a
licena de instalao, tendo a finalidade de autorizar a operao da atividade ou
empreendimento, observando-se o que foi exigido e efetivado nas licenas
anteriores, incluindo-se as medidas e condicionantes de controle ambiental.
Assim, as atividades tursticas, em destaque o Ecoturismo, por se
desenvolver com a utilizao dos recursos ambientais, como base de seu
desenvolvimento, dever, via de regra, submeter-se ao procedimento administrativo
do licenciamento ambiental, visando resguardar os bens ambientais para utilizao
das presentes e futuras geraes, implicando assim, num fator de conservao da
prpria vida.
Caminhando nesse sentido, podemos observar que a realizao do
licenciamento ambiental nas atividades ecotursticas, vai ao encontro do que dispe
163
o artigo 9, IV da Lei da Poltica Nacional do Meio Ambiente, uma vez que configura
importante instrumento preventivo de tutela do meio ambiente.
Vale ressaltar que o licenciamento ambiental, justamente pela natureza
difusa do bem ambiental, possui caractersticas sui generis, uma vez que, ao
contrrio do que se denota do licenciamento administrativo, em que a licena obtida
sempre decorrente de ato vinculado, no licenciamento ambiental, a licena obtida
revestida de discricionariedade.
Tal afirmativa se faz verdadeira ante o fato de que o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), por revestir um dos instrumentos de anlise para concesso da
licena, poder ou no ser exigido, tendo em vista que somente se faz obrigatrio
em razo do que dispe o artigo 225, 1, IV, ou seja, em decorrncia de obras e
atividades potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental, motivo
pelo qual sua interpretao motivar a Administrao Pblica, atravs de seu rgo
competente, que poder ou no conceder a licena ambiental com base em seu
poder discricionrio.
Ademais, a discricionariedade supradita, reveste-se de legalidade ante ao
que dispe o artigo 170, V, e ainda, o artigo 225, ambos da Constituio Federal
vigente, de onde extramos a idia de Desenvolvimento Sustentvel, sendo certo
que a concesso de licena poder ser outorgada, ainda que o EIA/RIMA venha ser
negativo, ou seja, que demonstre certo prejuzo ao meio ambiente.
Observando tais condicionantes, e com base em critrios de convenincia e
oportunidade, a Administrao Pblica avaliar sobre a concesso ou no da licena
ambiental, pautando-se, todavia, no princpio do desenvolvimento sustentvel, que
alia preservao do meio ambiente e desenvolvimento econmico.
Vale ressaltar que a discricionariedade regra no licenciamento ambiental,
contudo, poder ocorrer a outorga de licena ambiental em decorrncia de ato
vinculado, sendo condicionado ao fato de que, existindo EIA/RIMA favorvel, tal
situao determina a outorga pretendida pelo empreendedor.
Portanto, tratando-se o licenciamento ambiental de procedimento
administrativo, dever o mesmo obedecer aos princpios do devido processo legal
que rege a Administrao Pblica no trato das questes ambientais, dentre os quais:
164
pelo princpio da moralidade ambiental, legalidade ambiental, publicidade, finalidade
ambiental, princpio da supremacia do interesse difuso sobre o privado, princpio da
indisponibilidade do interesse pblico, entre outros (FIORILLO, 2005, p. 84)
Com base em tais, princpios, e por ser a atividade do Ecoturismo,
desenvolvida com possibilidade de impacto ambiental, o procedimento de
licenciamento dever ocorrer em razo das trs etapas distintas existentes, ou seja,
licena prvia, licena de instalao e a licena de operao.
No Brasil, como em muitos pases do globo, principalmente pases de
terceiros mundo como Mxico e Qunia, pelo fato de que o Ecoturismo tenha
pautado o incio de seu desenvolvimento sob aspectos meramente empricos e
amadorsticos, tal situao tem acarretado, em mdio prazo, prejuzos ambientais,
devido ao fato de que nenhum estudo ou nenhum procedimento de licenciamento
ambiental tenha sido realizado, somando-se, todavia, a aspectos administrativos,
sociais, econmicos e polticos, os quais agravam a situao.
10.1 O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Conforme j explicitado, o EIA/RIMA no tem exigncia obrigatria em todas
as atividades que venham a intervir no Meio Ambiente, em razo do que dispe o
artigo 225, 1, IV da CF/88, ou seja, incide em decorrncia de obras e atividades
potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental, onde a Administrao
Pblica far a anlise discricionria para sua considerao e exigncia.
Observando-se que o Ecoturismo uma atividade tpica de consumo e que
visa a obteno de rendimento econmico, utilizando-se da interveno junto ao
meio ambiente para seu desenvolvimento, por certo se enquadra no contexto
definido, ou seja, poder sujeitar-se exigncia do EIA/RIMA em qualquer das fases
do licenciamento ambiental para a implementao e operao da atividade ou
empreendimento ecoturstico.
No que pese as alegaes realizadas, sabemos que o EIA/RIMA no
obrigatrio, apesar de configurar importante instrumento preventivo de proteo
ambiental, trazendo em sua essncia o que se evidencia no princpio da preveno e
165
da precauo, passando, tal instrumento a ter escopo constitucional, em razo da
instituio em nosso ordenamento da Carta Constitucional vigente.
correto afirmar, tambm, que o EIA/RIMA, apesar de algumas crticas
doutrinrias, que inclusive lhe atribuem carter de inconstitucionalidade, tendo em
vista que o texto constitucional, em seu artigo 225, 1, IV, condiciona que a
exigncia do EIA/RIMA seja feita na forma da lei, possui sua base legal bem
fundamentada, tendo evoludo no transcorrer dos anos.
Tal assertiva se faz correta, ao observarmos que no contexto evolutivo da
previso e implementao do EIA/RIMA, temos a Lei da Poltica Nacional do Meio
Ambiente (n 6.938/81), sendo esta aquela mencionada no corpo do dispositivo
acima, que, em seu artigo 9, III, eleva o EIA/RIMA a instrumento de poltica
ambiental.
Evidenciamos ainda, que a da Lei da Poltica Nacional do Meio Ambiente (n
6.938/81), institui tambm a criao do CONAMA, auferindo em seu artigo 8, II
competncia para realizao de estudos ambientais, visando analisar as alternativas
e conseqncias ao meio ambiente em decorrncia de projetos pblicos ou privados,
podendo requisitar as informaes necessrias a rgos federais, estaduais e
municipais, bem como, a entes privados, visando a realizao de estudos ambientais
para consecuo do EIA/RIMA, em decorrncia de obras ou atividades de
significativo impacto ambiental.
Caminhando na seara legal sob a anlise dos diplomas e dispositivos
mencionados, o CONAMA pauta constitucionalmente o contedo das suas
resolues no trato da implementao e exigncia do EIA/RIMA, principalmente na
fixao do modo e a forma para sua execuo, citando como exemplos a Resoluo
CONAMA n 1/86 e Resoluo CONAMA n 237/97.
De outra forma, percebemos que o Texto Constitucional e demais diplomas
legais que dispem ou contribuem para a exigncia e regulamentao do EIA/RIMA,
refere-se a uma condicionante para sua consecuo, ou seja, de que a atividade ou
empreendimento que se pretenda realizar seja considerado, potencialmente
causador de significativa degradao ambiental.
166
Tal condicionante para exigncia do EIA/RIMA trazida pelo corpo do artigo
225, 1, IV da Carta Constitucional, gera algumas crticas doutrinrias n o sentido
de que estaria criando um conceito indeterminado, por no definir o termo
significativa degradao ambiental, dificultando a tarefa do operador da norma.
Apesar das crticas existentes, o EIA/RIMA nem sempre ser exigido nas
obras ou atividades que incidam no meio ambiente, mas, face ao preceito institudo
nos princpios da preveno e da precauo, entendemos que toda a atividade ou
obra considerada, por presuno, impactante ao meio ambiente, cabendo ao
empreendedor demonstrar o contrrio ou a viabilidade de seu empreendimento,
condicionando-o realizao ou no do EIA/RIMA.
Por outro lado, entendemos correta a afirmativa feita pelo Professor Celso
Antnio Pacheco Fiorillo, de que a exigncia do estudo de impacto ambiental
encontra-se vinculada ao efeito e impactao que possa ser causada ao meio
ambiente, e no em razo da natureza em si do empreendimento (obra, atividade,
construo, etc.) (FIORILLO, 2005, p. 88).
Podemos destacar que a realizao de EIA/RIMA nas atividades ou
empreendimentos nos termos evidenciados, por certo permite a exigncia
discricionria por parte da Administrao Pblica.
Assim, destacamos que o Ecoturismo, por seu objeto, ou seja, realizao de
atividades que visem a prtica do turismo sustentvel, utilizando-se de recursos
ambientais, tambm deve ser analisado sob o bice da exigncia do EIA/RIMA.
Neste sentido, o Professor Celso Antnio Pacheco Fiorillo, ao evidenciar a
necessidade de realizao de EIA/RIMA na atividade do ecoturismo, exemplificando
sobre a utilizao do bem ambiental que compe o Patrimnio Cultural, afirma ser:
evidente a necessidade de realizao por parte daqueles
empreendedores antes referidos (que queiram usar o patrimnio
cultural em proveito do lucro), de estudo prvio de impacto ambiental
(art. 225, 1, IV), a ser exigido pelo Poder Pblico na medida em
que, conforme j tivemos a oportunidade de salientar, cuida o
ecoturismo de atividade econmica, a qual potencialmente poder
ocasionar significativa degradao do meio ambiente cultural
(FIORILLO, 2005, p. 431).
167
Ademais, destaca-se que a atividade ecoturstica realizada de forma
desordenada, ou ainda, meramente emprica, sem nenhum planejamento tcnico e
nem com estudos ambientais, por certo acarretar prejuzos ao meio ambiente,
citando como exemplo, o fato de no se fazer um estudo para saber qual a
capacidade de tolerncia ambiental que um balnerio ou termas pode suportar sem
que haja prejuzo ambiental.
Seguindo esse pensamento, evidenciamos que o EIA/RIMA dever ser
exigido daqueles que pretendam utilizar os bens ambientais para obteno de lucro
em razo dos possveis impactos que podero ser provocados em decorrncia de
um turismo de massa que venha a ser observado na atividade do Ecoturismo.
Assim, sabendo que o EIA/RIMA deve ser realizado por tcnicos que
formaro uma equipe multidisciplinar que correr as expensas do empreendedor,
evidenciamos que, na atividade turstica no Brasil, ainda no existe nenhuma
normativa que vincule a necessidade de um profissional turismlogo na formao da
equipe, o que, por certo prejudica a proteo ambiental ao passo que contribui para
a realizao de um turismo degradante por ser realizado sem a orientao de quem
possui conhecimentos tcnicos para contribuir com a sustentabilidade ambiental da
atividade.
11 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO COMO INSTRUMENTO DE
PRESERVAO E CONSERVAO DO MEIO AMBIENTE
Como podemos perceber, a atividade do Ecoturismo desenvolvida com
vistas ao desenvolvimento sustentvel, realizando a atividade econmica do turismo
com a utilizao de recursos naturais de forma racional e planejada, resultando
assim, no s no desenvolvimento econmico e social de uma da regio, como
tambm, viabiliza o exerccio do direito ao lazer, e agindo como um importante
instrumento de preservao do meio ambiente, incluindo neste contexto a
conservao de importantes bens ambientais que compe o meio ambiente em suas
diversas nuances como a cultura, a histria, a fauna, a flora, os recursos hdricos,
dentre muitos outros.
Podemos evidenciar que aspectos negativos como a degradao do meio
ambiente em seus mais variados nveis, citando como exemplo, a fuga da fauna de
seu habitat natural, certos nveis de poluio das guas em praias e rios, a
destruio de espcimes vegetativos, dentre outros, somente detectada quando a
atividade do Ecoturismo ocorre de forma desordenada, sem um planejamento de
forma racional e sem uma preocupao com vistas ao desenvolvimento sustentvel.
Ao estipularmos polticas srias, metas e regramentos para o desenvolvimento
da atividade do Ecoturismo, estaremos proporcionando a possibilidade de se aliar
desenvolvimento e preservao do meio ambiente, e, em caso de no
desenvolvermos aes no sentido de impedir fatores contribuintes para a
degradao ambiental, como no caso da atividade do trfico de animais silvestres,
ao menos estaremos contribuindo consideravelmente para que tal quadro seja
diminudo.
De outro modo, podemos tambm contar como potencializador da
conservao e preservao do meio ambiente atravs da consecuo da atividade
do Ecoturismo, o desenvolvimento adequado de uma Poltica de Educao
169
Ambiental, visando disseminar a conscientizao ecolgica em razo da importncia
do bem ambiental.
Poderemos assim, demonstrar que prticas lesivas ao meio ambiente, como
o desmatamento desordenado e ilegal, a falta de conservao de nossos recursos
hdricos, ou ainda, prticas atentatrias a nossa rica fauna brasileira, como no
exemplo do trfico de animais silvestres, somente tm a trazer prejuzos s
populaes scio-econmicas mais carentes.
Destacamos que a preservao e conservao do meio ambiente e o
desenvolvimento do denominado turismo ecolgico e outras atividades consideradas
saudveis, podero potencializar os benefcios no sentido de se alcanar o objetivo
de uma vida digna, sadia e com qualidade.
A grande questo que se encena, que se faz necessrio o envolvimento de
todo o segmento social de uma dada regio. Neste sentido, devemos considerar a
populao local, entes pblicos e sociedade civil organizada em geral, para que se
possa atingir o objetivo destacado pela atividade do Ecoturismo, que a
preservao e conservao do meio ambiente, visando a utilizao racional e
planejada dos recursos tursticos e naturais, garantindo as premissas da dignidade
da pessoa humana.
Um outro fator que favorece a proteo do meio ambiente, diz respeito ao
fato de que a atividade do Ecoturismo, de um modo geral, pode desenvolver-se nas
denominadas unidades de conservao, que por si s j representam um
instrumento de proteo e conservao de nossas riquezas naturais.
Sinteticamente, podemos dizer que a atividade do Ecoturismo objetiva,
dentre outras coisas,
promover e desenvolver turismo com bases cultural e ecologicamente
sustentveis; promover e incentivar investimentos em conservao
dos recursos culturais e naturais utilizados; fazer com que a
conservao beneficie materialmente comunidades envolvidas, pois
somente servindo de fonte de renda alternativa estas se tornaro
aliadas de aes conservacionistas; ser operado de acordo com
critrios de mnimo impacto para ser uma ferramenta de proteo e
conservao ambiental e cultural; educar e motivar pessoas atravs
170
da participao e atividades a perceber a importncia de reas
natural e culturalmente conservadas.
30
Entretanto, o fomento do setor Ecoturstico,pode desencadear um processo
de criao de reas de unidades de conservao, sendo que a iniciativa deve ser
incentivada pelos entes da administrao pblica sob os vrios aspectos, pois, alm
de representar um crescimento na rea econmica e social, resultando no aumento
de um setor altamente produtivo e rentvel, tambm ir atuar de forma a se
incentivar a criao de reas, onde a principal meta a preservao e o uso
sustentvel dos recursos naturais.
Deste modo se faz inegvel que a atividade do Ecoturismo realizada dentro
de um contexto de desenvolvimento sustentvel, representa, sem sombras de
dvidas, um dos instrumentos mais viveis para aliar a preservao e conservao
do meio ambiente aliado ao desenvolvimento social e econmico das regies
envolvidas.
Sua evidncia se faz to presente que a questo pertinente analisada de
forma global, onde metas e estudos de planejamento esto sendo realizados
visando derrogar os aspectos negativos, tornando a atividade consideravelmente
mais sustentvel em todo o mundo.
Atualmente, os programas para o desenvolvimento da atividade do
Ecoturismo no Brasil, esto se desenvolvendo em nvel regional e local, contudo,
so observados problemas de ordem burocrtica, conceitual, poltica e financeira
para sua plena efetivao.
Antes de ser desenvolvida a atividade do Ecoturismo numa determinada
localidade ou regio, mister se faz, buscar junto populao a informao sobre o
interesse da mesma em se envolver, pois, grande parte do sucesso da
implementao da atividade, depende deste envolvimento, que dever ser amparado
por informaes e esclarecimentos pertinentes, bem como, a busca de tal objetivo
atravs de incentivos dos mais variados, demonstrando a viabilidade econmica e
ambiental do Ecoturismo, e ainda, efetivar a participao da populao nas
30
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&conteudo=./ecotu
rismo/ecoturismo.html, capturado em 12/01/2006.
171
discusses das polticas de implementao, como por exemplo, atravs de um
Conselho Municipal de Turismo.
Outra forma de despertar o interesse da populao, resultando no
envolvimento da mesma, realizar a capacitao de monitores ou fiscais ambientais
locais, o que resulta em emprego e renda, evidenciando-se, contudo, que esta
funo no a mesma de guia de turismo, apesar de lidarem com atrativos naturais
da regio e seus aspectos culturais.
Certo que, qualquer municpio individualmente considerado, pode
desenvolver a atividade do turismo sustentvel, contudo, alguns aspectos de
barreiras para seu desenvolvimento, podem ser mais bem superados, se em uma
dada regio, havendo fatores favorveis, possibilitem aes em mbito regional.
Favorece tambm o desenvolvimento da atividade, se municpios vizinhos
situadas em regies em que se desenvolve o Ecoturismo, invistam na infra-estrutura
bsica e em servios para atender satisfatoriamente a demanda.
Ademais, para que a atividade do Ecoturismo se desenvolva com toda
plenitude, necessrio se faz que esteja estruturada em diretrizes coerentes com o
mercado, utilizando tecnologias adequadas, como a efetivao democrtica atravs
de discusses com a populao, resguardando assim, as diferentes facetas dos
ecossistemas existentes e garantindo o desenvolvimento sustentvel.
Destaca-se que o ecoturismo desenvolvido no Brasil resulta no geral, em
uma atividade desordenada, quase sempre sem nenhum planejamento, sendo
movida por aspectos de oportunismo mercadolgico, o que prejudica os resultados
esperados, ou seja, benefcios scio-econmicos e ambientais resultantes do
desenvolvimento sustentvel.
Contudo, se a atividade for desenvolvida alicerada em aspectos de ordem
ambiental e econmica em face do desenvolvimento sustentvel, o Ecoturismo pode
e ser importante instrumento de proteo ambiental, tendo em vista que se
desenvolve despertando a conscincia ecolgica, no apenas dos turistas que
procuram este tipo de lazer, mas tambm da prpria populao envolvida, que
tambm experimenta melhorias na qualidade de vida, resultando ainda, em aes
governamentais para resultados mais eficientes em seus objetivos fundamentais.
172
11.1 A ATIVIDADE DO ECOTURISMO COMO INSTRUMENTO VIABILIZADOR DO
DIREITO AO LAZER
Como se percebe, a busca pela atividade do Ecoturismo, se desenvolve em
razo da busca por parte dos turistas, da efetivao do direito ao lazer, que tambm
vem previsto como um dos direitos humanos fundamentais, inserte no contexto do
piso vital mnimo, efetivando o exerccio da dignidade da pessoa humana.
31
Podemos afirmar que a atividade do Ecoturismo representa um segmento da
atividade econmica do turismo, voltada a extrair da explorao sustentvel dos
recursos ambientais, por meio de produtos ou servios, dividendos socioeconmicos
atravs da oferta a um mercado consumidor que pretende efetivar o exerccio do
direito ao lazer, ou seja, os turistas.
Sabemos que a atividade do Ecoturismo ocorre com a utilizao sustentvel
dos bens ambientais, onde destacamos que isto ocorre em relao a todas as
nuances do referido bem, ou seja, as atividades realizadas em razo do meio
ambiente cultural, artificial e natural.
Em razo da atividade do Ecoturismo realizada no contexto do meio
ambiente cultural e histrico, podemos destacar o turismo religioso, que consiste em
experincias prazerosas de cunho espirituais resultantes da busca da visitao de
determinados locais ou participao de certos tipos de cultos para efetivar o contato
com o sagrado, como ocorre em Meca, em Roma, no Brasil, em Aparecida, dentre
outras cidades.
32
31
Conforme Celso Antnio Pacheco Fiorillo (2005), O direito ao lazer, enquanto componente do
PISO VITAL MNIMO, observado no art. 6 da Constituio Federal, explicitamente tutelado por
nosso direito ambiental no sentido de garantir a brasileiros e estrangeiros residentes no Pas o
exerccio de atividades prazerosas, consideradas enquanto sensaes ou mesmo emoes
agradveis ligadas satisfao de diferentes necessidades, dentro de nosso territrio. Como
componente essencial satisfao emocional da pessoa humana, o lazer integra o contedo de
um dos mais importantes (se no o mais importante, conforme j tivemos oportunidade de
argumentar) fundamentos constitucionais da Repblica Federativa do Brasil, a saber, o da
dignidade da pessoa humana (art. 1, III), o que nos leva a afirmar que seria impossvel considerar
qualquer pessoa humana no efetivo exerccio de sua dignidade no plano constitucional sem
usufruir o lazer enquanto direito material que a Carta Magna lhe assegura.
32
Celso Antnio Pacheco Fiorillo (2005) explcita sobre o Turismo Religioso: tambm conhecido
como turismo de peregrinao (ato que envolve jornada a lugares santos), uma das mais antigas
modalidades de turismo que tem como atrativo o encontro com o sagrado vinculado a diferentes
religies admitidas em determinado ambiente cultural em face de pessoas ou locais (territrio).
Famosos sobretudo na Idade Mdia, quando peregrinos cristos de diferentes camadas socais se
173
Temos ainda, o turismo gastronmico, que resulta na busca do prazer ante a
culinria tpica de um dado lugar, regio ou pas, que identifica a cultura de um
determinado povo, por exemplo, como ocorre com as massas e vinhos na Itlia, no
Oriente em razo de suas culinrias exticas, ou no Brasil, que por possuir
dimenses continentais, representa tambm um mosaico cultural, fator que reflete
em sua culinria, por exemplo: as comidas com carne seca, peixes e frutos do mar
da culinria nordestina, o churrasco, o vinho e as cervejas da culinria sulista, os
peixes, o churrasco tpico e as carnes exticas como o jacar no Pantanal nos
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dentre outros exemplos.
33
No aspecto cultural, temos ainda o turismo histrico e o turismo
arqueolgico, que apesar de guardarem profunda semelhana, possuem distines
sui generis.
O turismo histrico tem sua prtica movida por interesses em se ter acesso a
obras, objetos, documentos, edificaes, dentre outros elementos que guardam
importncia para aspectos culturais de determinados povos, grupos de pessoas ou
dirigiam a Roma, a Jerusalm, a Santiago de Compostela, dentre outros importantes locais de
culto, tambm foi (e ainda ) observado pelos maometanos, que faziam suas viagens
principalmente para Meca. Cabe salientar que as peregrinaes que ocorriam especialmente nos
sculos XII e XVI acabaram por se tornar uma atividade servida, j naquela poca, por verdadeira
e crescente indstria que envolvia hospedaria para viajantes (normalmente mantidas por
religiosos), incluindo atividades adaptadas s devoes religiosas, assim como cultura e ao
prazer. No Brasil o turismo religioso se destaca em virtude de nossa cultura, sobretudo em
eventos como o Crio de Nossa Senhora de Nazar (um dos maiores do mundo catlico que
ocorre em Belm do Par), a peregrinao para a cidade de Novo Trento, me Santa Catarina (que
passou a ter grande destaque a partir da beatificao de Madre Paulina pelo Papa Joo Paulo II),
a Festa do Divino em Paraty, no Rio de Janeiro, as festas de Nossa Senhora Achiropita (So
Paulo) no Estado de So Paulo, dentre vrias outras que exploram a religiosidade como fator de
atrao destinada aos interessados.
33
Celso Antnio Pacheco Fiorillo (2005) ao comentar sobre o turismo gastronmico informa que A
arte culinria como motivao estabelecida em face da busca de prazer por meio da alimentao
constitui importante foco de ateno do ecoturismo. A busca das razes culinrias e a forma de
entender a cultura de um lugar por meio de sua gastronomia est adquirindo importncia cada vez
maior, ensina Regina Schluter, ao salientar que a cozinha tradicional est sendo reconhecida
cada vez mais como um componente valioso do patrimnio intangvel dos povos, concluindo de
forma didtica que, ainda que o prato esteja a vista, sua forma de preparao e o significado para
cada sociedade constituem os aspectos que no se vem, mas que lhe do carter diferenciado,
afirmaes que preenchem de forma inequvoca o contedo do art. 216 da Constituio da
Repblica Federativa do Brasil. [...]. No Brasil, diante dos inmeros modos de criar a arte culinria
em decorrncia das manifestaes das culturas populares, indgenas, afro-brasileiras, assim como
de outros grupos participantes de nosso processo civilizatrio, j se projetam rotas culturais cujo
eixo a gastronomia, merecendo destaque a Oktoberfest (que se realiza em Blumenau, Estado de
Santa Catarina) e mesmo as Festas Juninas (Santo Antnio, So Joo e So Pedro), de grande
importncia no Nordeste e Norte do Brasil, que com suas comidas tpicas (alm das fogueiras e
quadrilhas) atraem muitas pessoas no ms de junho para as cidades como Caruaru (Pernambuco)
e Campina Grande (Paraba).
174
figura histrica especfica, sendo praticado tal turismo em lugares como museus. No
Brasil destacam-se o Museu Imperial, o Museu da Repblica, o Museu Histrico
Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, a Cinemateca Brasileira, o Museu de
Arte Moderna, o Museu do Ipiranga (Museu Paulista), o Museu da Inconfidncia, o
Museu do Diamante, destacando-se tambm o Museu do ndio em Campo Grande-
MS que possui grande acervo de artefatos indgenas da regio, sendo um dos
maiores do pas, dentre outros.
34
34
Celso Antnio Pacheco Fiorillo (2005), ao falar sobre o turismo histrico expe que O interesse de
muitas pessoas em ter acesso a obras, objetos, documentos, edificaes e espaos em locais
representativos de eventos passados relacionados a determinados povos, agrupamento de
pessoas ou mesmo indivduos especficos faz com que a atividade econmica denominada
turismo histrico se enquadre como importante mecanismo com finalidade lucrativa a ser
explorado pelas pessoas jurdicas de direito pblico interno e de direito privado. O acesso aos
museus, local destinado a adquirir, conservar, pesquisar, expor e divulgar evidncias materiais e
ainda aos bens representativos do homem e mesmo da natureza com a finalidade de promover o
conhecimento, a educao e principalmente o lazer, tem sido elemento essencial de atrao em
face do turismo histrico. No Brasil existem aproximadamente 1.300 instituies museolgicas que
apresentam grande diversidade, merecendo destaque, dentre outros o Museu Imperial situado em
Petrpolis. Rio de Janeiro e possuidor de valioso arquivo histrico do perodo monrquico
brasileiro - acervo com cerca de 100 mil documentos - alm da coroa imperial de D. Pedro I e D.
Pedro II bem como importantes objetos representativos da cultura nacional e particularmente do
patrimnio cultural do perodo da Monarquia Brasileira, o Museu da Repblica (situada no Rio de
Janeiro e antes conhecido como Palcio do Catete - sede dos governos republicanos desde 1.896
e utilizado por 18 presidentes da Repblica at Juscelino Kubtitschek - , com fotos, documentos,
objetos, mobilirio e obras de arte do sculo XIX e XX que integram seu acervo, o Museu Histrico
Nacional (criado por D. Joo VI em 1818 e considerado o maior museu de Histria Natural da
Amrica Latina, est situado no Rio de Janeiro e possui acervo de 300 mil itens entre peas
histricas e artsticas, documentos manuscritos e icnogrficos - com destaque para o trono de D.
Pedro II, a caneta da Princesa Isabel oferecida aps a abolio da escravatura e o malhete
manico de D. Pedro I -, alm de porcelana, pratarias, arte sacra, ourivesaria e marfins religiosos
de origem ndo-portuguesa, bem como arquivo histrico que rene 50 mil documentos, biblioteca
com 60 volumes, valiosa coleo de canhes portugueses, ingleses, franceses, holandeses e
brasileiros e ainda carruagens de poca), o Museu Nacional de Belas Artes (situado no Rio de
Janeiro, conta com 14.429 peas, reunindo valiosa coleo da arte brasileira do sculo XIX,
particularmente artistas como Vitor Meirelles, Pedro Amrico, Almeida Junior, dentre outros), o
Museu Paulista (situado em So Paulo e conhecido como Museu do Ipiranga, conta com acervos
de mais de 125 mil unidades entre objetos, iconografia e documentao arquivstica do
seiscentismo at meados do sculo XX destinados a compreender a sociedade brasileira), a
Cinemateca Brasileira (situada em So Paulo e formada por patrimnio de 150 mil rolos de filmes
e 30 mil ttulos, o acervo constitui a maior coleo de filmes da Amrica Latina que se refere a
obras de fico, documentrios, cinejornais, publicidades e registros familiares brasileiros e
estrangeiros abrangendo o perodo de 1895 at os dias de hoje assim como a coleo de imagens
- filmes e vdeos - da primeira emissora de TV brasileira, a extinta TV Tupi; seu catlogo rene
nomes ilustres, como os dos cineastas brasileiros Mrio Peixoto, Humberto Mauro, Alberto
Cavalcanti, Glauber Rocha, Leon Hirzman, Joaquim Pedro de Andrade, Nelson Pereira dos
Santos, e ainda filmes importantes, a saber, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, Ganga
Bruta, Limite, Terra em Transe, Macunama, O Bandido da Luz Vermelha, O Pagador de
Promessas, O Cangaceiro, Rio 40 Graus, dentre outros mais recentes), o Museu de Arte de So
Paulo (conhecido como MASP, coloca-se como primeiro centro cultural de excelncia do Brasil na
medida em que realizou todos os eventos relacionados com criaes artsticas: pintura, escultura,
gravura, arquitetura, design, mobilirio, moda, msica, dana, biblioteca, escola, teatro, cinema,
work-shops, lanamento de livros e conferncias), o Museu de Arte Moderna (situado em So
Paulo e conhecido como MAM, o mais antigo museu de arte moderna do Pas, possuindo cerca
175
Em outra perspectiva, o turismo arqueolgico fruto da explorao da
atividade econmica resultante das visitaes nos locais identificados como stios
arqueolgicos, que possuem vestgios das mais variadas formas, dentre as quais
ocupaes humanas do passado, seus artefatos, monumentos antigos, fsseis pr-
histricos, dentre outros.
35
Alm disso, o turismo ecolgico pode se valer ainda dos bens ambientais de
natureza artificial, que por suas belezas e prticas de lazer oferecidas aos visitantes,
proporcionam sentimento de prazer, como ocorre em Braslia, por sua arquitetura
nica, em Campo Grande-MS, que oferece aos visitantes lugares mpares, como o
Parque das Naes Indgenas, So Paulo, que possui o centro antigo, o Bairro da
Liberdade, o Parque do Ibirapuera, dentre outros.
Certo que o turismo de eventos pode ser favorecido em razo da utilizao
de fatores positivos do meio ambiente artificial, que proporciona sensao de bem
estar relacionado ao conjunto de bens artificiais que uma cidade pode proporcionar,
principalmente em observncia a funo social prevista em nossa Carta
de 2 mil obras, quase todas produzidas no Brasil, em sua maioria gravuras e objetos, alm de
pinturas e esculturas de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, Brecheret, Amlcar de
Castro, Tomie Ohtake, Baravelli, dentre outros importantes artistas nacionais), o Museu da
Inconfidncia (situado em Ouro Preto - Minas Gerais, tem acervo relevante vinculado, aos sculos
XVIII e XIX, assim como dos inconfidentes mineiros) e o Museu do Diamante (situado em
Diamantina-Minas Gerais, sua finalidade recolher, classificar, conservar e expor elementos
caractersticos das jazidas, formaes e espcimes de diamantes ocorrentes no Brasil, alm de
objetos de valor histrico relacionados com a indstria daquela minerao em face dos aspectos
mais variados; tem acervo composto de 1.675 objetos do sculo XVIII e XIX entre pinturas,
desenhos, cdulas, moedas, acessrios de interior, mobilirio, equipamentos, utenslios
domsticos e de iluminao).
35
Celso Antnio Pacheco Fiorillo (2005) ao destacar o turismo arqueolgico explcita que Muito bem
explorado por pases como Egito, Itlia, Grcia, Peru e Mxico, dentre outros, e destinados a atrair
as pessoas interessadas em ter acesso aos locais em que se encontram vestgios materiais de
ocupaes humanas passadas (e obviamente seus costumes e cultura) por meio de variado
material (fsseis, artefatos, monumento etc.), destina-se o turismo arqueolgico a viabilizar o
ecoturismo em face dos denominados stios onde seres humanos originariamente em estgio
grafo (povos sem escrita) ocupavam determinado territrio (stios de valor arqueolgico). No
Brasil existem mais de 20 mil stios arqueolgicos catalogados, sendo 5 tombados, a saber:
Sambaqui do Pinda (em So Lus, Maranho), Parque Nacional da serra da Capivara (So
Raimundo Nonato, Piau), Inscries Pr-Histricas do Rio Ing (Ing, Paraba), Sambaqui da
Barra do Rio Itapitangui (Canania, So Paulo) e Lapa da Cerca Grande (Matozinhos, Minas
Gerais), merecendo ainda grande destaque a regio de Lagoa Santa (Minas Gerais), Monte Alegre
(Par) e Chapada do Araripe (Cear/Pernambuco). To importantes para o Brasil quanto as runas
encontradas em outros pases e evidentemente merecedoras de tutela jurdica, a exemplo dos
outros stios antes referidos, as Runas de So Miguel das Misses (So Miguel das Misses, Rio
Grande do Sul) tambm merecem indicao como evidente exemplo em que o acesso de
ecoturistas no pode ser discriminado, cabendo o controle jurdico da rea com aplicao das
normas ambientais pertinentes.
176
Constitucional indicado pelos artigos 182 e 183, e, em razo do Estatuto das
Cidades institudo pela Lei 10.257/01.
No que pese a importncia dos aspectos do meio ambiente, apontados at o
momento ressalta-se que o meio ambiente natural, principalmente em razo do
conjunto natural do ecossistema brasileiro, pode ser considerado o maior fator que
possibilita o desenvolvimento da atividade ecoturstica no Brasil.
Assim, favorecido por suas riquezas naturais, principalmente pela fauna
exuberante, a flora extica, e os mosaicos paradisacos formados por seus recursos
hdricos, destacamos que tais fatores que formam ecossistemas como a Floresta
Amaznica, a Floresta Atlntica, o Cerrado, o Pantanal, Caatinga ou Semi-rido,
Floresta Araucria, Campos Sulinos, Manguezal, e as Zonas Costeiras, facilitam e
fomentam o desenvolvimento da atividade ecoturstica no Brasil.
Em face das caractersticas naturais do Brasil, podemos destacar que
esportes praticados com a utilizao da natureza como seu principal fator, muitos
deles considerados radicais por proporcionarem grandes emoes aos praticantes,
insere-se no contexto ecoturstico, podendo ser denominados tambm por eco-
esportes, sendo que sua prtica, em suma maioria realizada como hobby, apesar
de que quase todos os eco-esportes existentes podem ser competitivos e at
mesmo profissionais.
Dentre os esportes praticados em razo da atividade ecoturstica,
destacamos os seguintes: Acquaride; Enduro Eqestre; Rafting; Balonismo;
Escalada; Rapel; Bird-watching; Mergulho; Safari Fotogrfico; Camping ;
Montanhismo; Snowboard; Canoagem; Mountain-bike; Trekking; Canyoning;
Paraglider ; Wakeboard; Caving; Pesca Esportiva; Windsurf, Arborismo.
Destacamos tambm, que:
No Brasil, sem dvida alguma, a maravilhosa biodiversidade (flora e
fauna) associada s particulares circunstncias do territrio nacional
(banhado pelo Oceano Atlntico, o litoral brasileiro tem 9.198
quilmetros de extenso, possuindo inmeras reentrncias com
praias, falsias, mangues, dunas, recifes, baas, restingas etc.) exige
do legislador providncias para que o uso do meio ambiente natural
venha a ser disciplinado com tutela jurdica em proveito dos
interesses dos brasileiros e estrangeiros aqui residentes (FIORILLO,
2005, p. 455).
177
11.2 CARACTERIZAO DO ECOTURISMO COMO ATIVIDADE ECONMICA DE
CONSUMO
A atividade do Ecoturismo, com o respaldo constitucional, insere-se no
contexto de uma atividade tipicamente econmica, onde sabemos que sendo nossa
sociedade tipicamente capitalista, o exerccio de tal atividade deve obedecer aos
limites indicados nos dispositivos de nossa Carta Constitucional (principalmente em
razo dos artigos, 1, III; 170; 182 e 183; 196 usque 200; 215 e 216; e, 225).
Ademais, no plano infraconstitucional, a atividade do Ecoturismo encontra
vrios diplomas que visam assegurar que sua efetivao ocorrer dentro de uma
ordem de sustentabilidade, em respeito ao meio ambiente. A propsito, destacamos
como principais, as Leis n. 6.938/81, n. 7.347/85, n. 8.078/90, n. 9.985/00, n.
10257/01, dentre muitas outras.
Neste sentido, extramos que:
O direito ao lazer passou a ser tutelado em nosso sistema
constitucional em face de suas caractersticas, mas vinculado
orientao indicada no art. 170 da Carta Magna a partir de outro
fundamento de igual importncia em no Constituio Federal: a
existncia de uma ordem econmica capitalista protegida pelos
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, um direito ao
lazer a ser realizado no mbito da ordem jurdica do capitalismo
(FIORILLO, 2005, p. 428).
Assim, podemos observar que todo aquele que pretenda empreender na
rea do turismo ecolgico, estar agindo sob o bice constitucional do artigo 170,
principalmente em razo de seu inciso VI, onde extramos que a
ordem econmica, fundada na valorizao do trabalho humano e na
livre iniciativa, tempo fim assegurar a todos existncia digna,
conforme os ditames da justia social, observados, dentre os seus
princpios, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos
e servios e de seus processos de elaborao e prestao
(FIORILLO, 2005, p. 461).
Tal situao descrita em razo do disposto no artigo 170, VI da CF/88, sob a
nuance do desenvolvimento da atividade econmica tpica de consumo do
Ecoturismo, encontra-se em harmonia com o advento do artigo 225 da Carta
178
Constitucional, que prev que o meio ambiente por ser bem de uso comum do povo
e essencial a sadia qualidade de vida, tanto das presentes quanto para as futuras
geraes, o qual deve ter sua utilizao pautada na obrigao da proteo
ambiental.
Deste modo, podemos definir que todo aquele que pretenda realizar
empreendimento para desenvolver a atividade do Ecoturismo, sendo que esta
atividade econmica tpica de consumo, dever obedecer aos critrios de
sustentabilidade com vistas a proteo ambiental.
Neste sentido, Fiorillo (2005, p. 461) destaca que:
qualquer pessoa fsica ou jurdica, pblica ou privada, nacional ou
estrangeira e ainda entes despersonalizados podero em princpio
exercer atividade econmica reservada a viabilizar viagens de lazer
usando bens ambientais (art. 3 da Lei n 8.078/90), desde que,
diante de circunstncias concretas, realizem necessrio estudo
prvio de impacto ambiental (na forma do que determina o art. 225,
1, IV, da CF) e cumpram as demais normas impostas, caso a caso,
s diferentes possibilidades de acesso aos bens ambientais
(FIORILLO, 2005, p. 461).
Por fim, importante destacar que, sendo o Ecoturismo, atividade
econmica tipicamente de consumo, ser regrada em razo da oferta e da procura
de produtos e servios de consumo ecotursticos, regrados pelas normas do CDC
institudo pela Lei n 8.078/90, sendo certo que os direito e deveres em relao aos
consumidores e fornecedores, estaro sob a gide do referido diploma, sem prejuzo
do respeito a outras normas constitucionais e infraconstitucionais.
Inclusive, podemos relacionar dentre os direitos dos consumidores, o de
receber informaes corretas, claras, precisas, ostensivas, e, em lngua portuguesa,
sobre as caractersticas, qualidade, quantidade, preo, garantias, prazos, origem,
dentre outras que se fizerem necessrias e que se referirem a oferta dos produtos
ou servios da atividade ecoturstica.
Por ser atividade tpica de consumo, a responsabilizao pelo fato do
produto quanto pelo fato do servio, em razo da atividade do Ecoturismo, alm de
evidenciar a responsabilizao solidria dos envolvidos, reger-se- com base na
teoria do risco, ou seja, com base na responsabilidade objetiva do empreendedor.
179
Assim, qualquer ofensa aos preceitos institudos pelo Cdigo de Defesa do
Consumidor, acarretar na responsabilizao dos empreendedores, tendo em vista a
natureza jurdica da atividade do Ecoturismo, cabendo, entretanto tambm aos
turistas, o respeito e o dever de proteo do meio ambiente para as presentes e
futuras geraes efetivando assim, o objetivo do desenvolvimento sustentvel.
CONCLUSO
Sabemos da importncia do Direito Ambiental, principalmente nos tempos
atuais, haja vista que o homem fruto do meio em que vive, e, para tanto, sua
sobrevivncia depende da conservao deste meio, devendo primeiramente ter a
sociedade a conscincia da real importncia do meio ambiente, e,
concomitantemente, buscar meios de tutelar um direito que pertencente toda
coletividade, resultando na vida digna e com qualidade.
Pelas condies atuais, devido grande evoluo econmica e industrial do
mundo, temos grandes transformaes em relao ao meio ambiente, pois, devido
natureza da prpria atividade desenvolvida no processo industrial, aumenta-se
grandemente os risco e os efeitos em torno da poluio e da degradao ambiental,
o que deve ser observado e controlado de perto por toda a sociedade com
instrumentos voltados ao desenvolvimento sustentvel.
Destacamos que a atividade do Ecoturismo por pautar seu desenvolvimento
em prticas sustentveis representa um dos mecanismos mais eficazes para que
possamos alcanar a preservao ambiental, tendo em vista que possui como
objetivo realizar uma atividade que alia aspectos econmicos, sociais e
principalmente, aspectos ambientais.
Deste modo evidenciamos que os aspectos acima mencionados, devem ser
agregados de forma consciente e planejada, buscando efetivar uma poltica que
busque o desenvolvimento da atividade com base em critrios de sustentabilidade,
devendo pautar suas aes de forma racional e equilibrada, objetivando extrair de sua
utilizao, resultados que levem em conta, no apenas o crescimento econmico e
social da regio envolvida, mas, considere tambm a preocupao com a proteo
ambiental, visando em especial, a preservao dos recursos naturais, sendo estes
fatores, essenciais para alcanarmos uma vida, digna, sadia e com qualidade.
181
Devemos destacar tambm que o presente trabalho abordou, de forma
bastante ampla, os aspectos constitucionais principiolgicos que regem
juridicamente a atividade do Ecoturismo, que uma atividade tpica de consumo que
pauta seu desenvolvimento no turismo ecolgico, fato este, que nos coloca frente a
consideraes contundentes da ordem de direitos difusos e coletivos, principalmente
em razo do Direito Ambiental e o Direito de Defesa do Consumidor, tendo em vistas
seus prprios fundamento e importncia para o desenvolvimento da atividade
ecoturstica.
De outro modo, tambm se buscou evidenciar os aspectos legais sobre a
responsabilizao ambiental em razo da realizao da atividade do Ecoturismo sob
sua mais complexa nuance, bem como, a importncia da realizao do Estudo de
Impacto Ambiental sob os aspectos do Licenciamento Ambiental.
notrio o fato de que o mundo est a pensar a questo do Ecoturismo de
forma global, e buscando implementar polticas que possibilitem o desenvolvimento
da atividade com vista a sustentabilidade.
Entretanto, para que isso ocorra, faz-se necessria a participao de todos
os envolvidos nesse processo, tendo em vista o papel fundamental que cada ente
representa no desenvolvimento dessa atividade. Observamos que o ente pblico tem
como responsabilidade a implementao de polticas, incentivos e diretrizes para o
desenvolvimento do setor, sem obstar seu papel na tutela jurisdicional ao meio
ambiente, bem como, tem a iniciativa privada, principalmente as empresas e o setor
de investimentos, o objetivo de fomentar o setor. Para finalizar, destacamos o papel
da populao em agir de forma a buscar seu desenvolvimento, pautando-se, no
despertar de uma conscientizao ecolgica necessria para a preservao do meio
ambiente e melhoria da qualidade de vida de forma digna e saudvel.
O Brasil detentor de um aparato jurdico institucional considervel, cuja
abrangncia e complexidade nos concede instrumentos capaz de possibilitar uma
eficaz e adequada tutela dos bens ambientais, o que tambm ocorre em face da
atividade do Ecoturismo.
Contudo, a falta de organizao no pas, aliada aos problemas evidenciados,
principalmente em razo da dimenso continental que o Brasil possui, leva o
182
Ecoturismo a se desenvolver de forma desordenada, sendo somado a estes fatores,
a necessidade de se implementar polticas que visem assegurar uma organizao
melhor para o desenvolvimento do setor, o que resultaria na realizao de um
turismo ecolgico, pautado em critrios de sustentabilidade com vistas
responsabilidade social, empreendido com mnimo impacto ambiental.
Outro dos principais problemas existentes no Brasil, o fato de que, via de
regra, a atividade do Ecoturismo no se desenvolve com base em critrios tcnicos,
em que se faz importante presena do turismlogo como exigncia nos projetos
dentre a equipe tcnica multidisciplinar responsvel, fator este que no se percebe
com freqncia nos empreendimentos existentes.
A importncia de tal profissional se evidencia ante a necessidade de
planejamento para a implementao e realizao da atividade de forma profissional,
atingindo como conseqente resultado, uma maximizao da proteo ambiental,
que aliada a outros fatores tcnicos, deveria ser condio cabal no apenas na fase
de procedimento do licenciamento ambiental, mas tambm, em face da realizao
contnua da prpria atividade do Ecoturismo.
Evidencia-se que estes fatores negativos tambm so percebidos em outros
pases que pautam suas aes de forma desordenada e sem planejamento, como
tambm ocorre no Brasil em razo da atividade do Ecoturismo, sendo que a forma
em se desenvolve, resulta da falta de infra-estrutura necessria, quando no
percebemos sua ausncia, o que inviabiliza qualquer sucesso, ainda que seja
mnimo, bem como, aliado preparao do setor para receber a demanda a que se
prope.
Contudo, vale ressaltar que o Brasil, mesmo tendo ainda uma pequena
representatividade no setor do Ecoturismo em comparao a outros pases do
mundo, possui uma grande riqueza ambiental para desenvolvimento do Ecoturismo,
e, como j destacado, um importante aparato jurdico, que por certo pode favorecer
a atividade no pas, faltando apenas, polticas e aes eficientes e adequadas por
parte dos agentes responsveis, tanto do Poder Pblico quanto da iniciativa privada,
sempre com o envolvimento da populao.
183
Temos ainda, a contribuio de vrias circunstncias favorveis para
atingirmos o desenvolvimento do setor ecoturstico e com isso, fortalecer um grande
instrumento que possibilite a preservao do meio ambiente, tendo em vista que sua
importncia se faz latente em razo do pas possuir a maior biodiversidade do
mundo, mas tambm possuir srios problemas ambientais, como, por exemplo,
representar 10% do comrcio ilcito do trfico de animais.
Contudo, difundindo o sentimento de preservao atravs do
desenvolvimento do setor ecoturstico, somado propenso do Ecoturismo em se
desenvolver nas unidades de conservao, por certo representaria um fator decisivo
na luta contra a degradao do meio ambiente.
Assim, conclumos que a atividade do Ecoturismo, por representar um
grande instrumento de preservao ambiental e de grande potencial para alarmos o
desenvolvimento de forma sustentvel, faz jus a uma ateno maior por parte de
nossos organismos, tanto em razo do Poder Pblico quanto da iniciativa privada,
visando desenvolver e implementar polticas firmes no exato sentido de que sero
tomadas todas as medidas necessrias para que possibilite o desenvolvimento do
setor de modo sustentvel, contribuindo, alm dos benefcios econmicos, para
propiciar o desenvolvimento social, bem como, atravs da preservao e
conservao do meio ambiente, garantir o direito a uma vida digna, saudvel e com
qualidade.
REFERNCIAS
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 1999.
BENJAMIN, Antnio Herman V. (Coord.). Dano ambiental, preveno, reparao e
represso. So Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 2, 1993.
BRASIL. Constituio, 1988. Constituio da Repblica Federativa do Brasil.
Braslia: Senado Federal/Centro Grfico, 1988.
BRASIL. Ministrio do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Resoluo CONAMA n 001/1986, de 23/01/86. Dispe sobre critrios bsicos e
diretrizes gerais para o Relatrio de Impacto Ambiental - RIMA, publicada no DOU:
17/02/1986.
_____. Resoluo CONAMA n 20/86, de 18/06/1986. Dispe sobre a classificao
das guas doces, salobras e salinas do Territrio Nacional, publicada no DOU:
30/07/1986.
_____. Resoluo CONAMA n 005/87, de 06/08/1987. Dispe sobre o Programa
Nacional de Proteo ao Patrimnio Espeleolgico, e d outras providncias,
publicada no DOU: 22/10/1987.
_____. Resoluo CONAMA n 002/88, de 13/06/1988. Dispe sobre a proibio de
qualquer atividade que possa pr em risco a integridade dos ecossistemas e a
harmonia da paisagem das RIES, publicada no DOU: 15/06/1988.
_____. Resoluo CONAMA n 010/88, de 14/12/1988. Dispe sobre a
regulamentao das APAs, de 14/12/1988, publicada no DOU: 11/08/1989.
_____. Resoluo CONAMA n 237/97, de 22/12/1997. Regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na Poltica Nacional do Meio Ambiente,
publicada no DOU: 22/12/1997.
_____. Resoluo CONAMA n 341/03, de 25/09/2003. Dispe sobre critrios para a
caracterizao de atividades ou empreendimentos tursticos sustentveis como de
interesse social para fins de ocupao de dunas originalmente desprovidas de
vegetao, na Zona Costeira, publicada no DOU: 03/11/2003.
_____. Resoluo CONAMA n 347/04, de 10/09/2004. Dispe sobre a proteo do
patrimnio espeleolgico, publicada no DOU: 13/09/2004.
185
BRASIL. Decreto n 24.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o cdigo de guas. Rio
de Janeiro, 10 de julho de 1934; 113 da Independncia e 46 da Repblica.
BRASIL. Decreto n 50.877, de 29 de julho de 1961. Dispe sobre o lanamento de
resduos txicos ou oleosos nas guas interiores ou litorneas do pas e d outras
providncias.
CAPELLETTI, Mauro. Formaes sociais e interesses coletivos diante da justia.
So Paulo: Revista dos Tribunais, p.5-7, 1977.
CASTRO, Guilherme Couto de. A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro.
3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
COELHO, Luiz Fernando. Aspectos jurdicos da proteo ambiental. Curitiba:
Associao dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia do Estado do
Paran, 1975.
CRETELLA JNIOR, J. O estado e a obrigao de indenizar. Rio de Janeiro:
Forense, 1998.
DIAS, Reinaldo. Turismo sustentvel e meio ambiente. So Paulo: Atlas, 2003.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 2.ed. So
Paulo: Saraiva, 2001.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 6.ed. So
Paulo: Saraiva, 2005.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de
direito ambiental e legislao aplicvel. So Paulo: Max Limonad, 1997.
FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio ambiente. 3.ed. Rev. e
Ampl. Curitiba: Juru, 2001.
GOMES, Luiz Roldo de Freitas. Elementos de responsabilidade civil. So Paulo:
Renovar, 2000.
LINDBERG, Kreg; HAWKINS, Donald E. Ecoturismo - um guia para planejamento e
gesto. 2.ed. So Paulo: Senac, 1995.
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 11.ed. So Paulo:
Malheiros, 2003.
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juzo. 18.ed. So Paulo:
Saraiva, 2005.
MILLER, K. Planificacin para el desarollo em Latinoamrica. In FEPMA.
Crescimiento y desarolo de los parques nacionales en Latino-Amrica, 1980.
MIRRA, lvaro Luiz Valery. Ao civil pblica e a reparao do dano ao meio
ambiente. So Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.
186
NUNES, Luiz Antnio Rizatto. Curso de direito do consumidor. So Paulo: Saraiva,
2004.
NUNES, Luiz Antnio Rizatto. Manual da monografia jurdica. 2.ed. So Paulo:
Saraiva, 1999.
PEREIRA, Caio Mrio da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense,
1993.
PINTO, Antnio Carlos Brasil Pinto. Turismo e meio ambiente. 2.ed. So Paulo:
Papirus, 1999.
PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental. So Paulo: Max Limonad, 2000.
REIS, Clayton. Dano moral. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
REVISTA POCA. A arara e a cocana. So Paulo, n 270, de 21 de julho de 2003.
REVISTA CINCIA & AMBIENTE. Campo Grande: UFMS, vol. 17, julho/dezembro,
1998.
SILVA, Vasco Pereira da. Verde cor do direito. Coimbra: Editora Almeida, 2002.
SIRVINSKAS, Lus Paulo. Manual de direito ambiental. So Paulo: Saraiva, 2003.
THEOBALD, Willian F. Turismo global. So Paulo: Senac, 1998.
Sites:
TURISMO ECOLGICO: uma atividade sustentvel. Disponvel em: <http://www.
bndes.gov.br/conhecimento/ setoria /get4is10.pdf>. Acesso em 22 julho 2003.
TURISMO nos estados brasileiros. Disponvel em: < http://www.ambientebrasil.com.
br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&conteudo=./ecoturismo/turismo_es
tados.html . Acesso em: 22 julho 2006.
<http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/summaries/stoa103sum_pt.pdf>. capturado
em 25/07/2003.
LEGISLAO AMBIENTAL. Disponvel em: <http://www.mma.gov.br/conama>.
<http://www2.ibama.gov.br/unidades/rppn/duvidas.html>. capturado em 20/07/2003.
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm/publicaoes/Ecoturismo.pdf>, capturado em
20/07/2003.
<http://www.sosfauna.org/a_realidade_dolorosa_e_vergonhos.htm>. capturado em
15/07/2003 .
<http://www.esmpu.gov.br/publicacoes/meioambiente/pdf/Luciano_F_Loubet_Regim
e_juridico_do_ecoturismo.pdf>. capturado em 27/06/2005.
187
<http://www.arq.ufsc.br/infoarq/A_atividade_turistica_como_ferramenta.html>.
capturado em 12/01/2006.
<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/22B19623/item712.doc>. capturado
em 12/01/2006.
<http://www.agirazul.com.br/leis/regcomana.htm>. capturado em 12/01/2006.
<http://www.geocities.com/Baja/3224/caraca.html>. capturado em 12/01/2006.
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3>. capturado em
12/01/2006.
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&c
onteudo=./ecoturismo/artigos/conceitos.html> capturado em 12/01/2006.
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&c
onteudo=./ecoturismo/artigos.html>. capturado em 12/01/2006.
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&c
onteudo=./ecoturismo/ecoesportes.html>. capturado em 12/01/2006.
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&c
onteudo=./ecoturismo/diretrizes.html>. capturado em 12/01/2006.
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&c
onteudo=./ecoturismo/polos_ecoturismo.html>. capturado em 12/01/2006.
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&c
onteudo=./ecoturismo/potencial_br.html>. capturado em 12/01/2006.
ANEXO
TURISMO NOS ESTADOS BRASILEIROS
189
Turismo nos Estados Brasileiros
Utilizando o mecanismo de busca contido neste ambiente, voc acessa um
banco de dados com informaes climticas, tursticas, ambientais e scio-
poltico-econmicas de municpios e estados brasileiros, alm de algumas
informaes do pas.
Regio Centro-Oeste
Regio Nordeste
Regio Norte
Regio Sudeste
Regio Sul
190
REGIO CENTRO-OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadua
l/index.html&conteudo=./estadual/ms.html
Histria, Povoamento e Colonizao
O povoamento e a colonizao foram rpidos na regio do Mato Grosso. Imigrantes
portugueses, espanhis e paraguaios, bem como, mineiros, paulistas, nordestinos e
demais povos partiram em busca do ouro da regio Centro-oeste do Pas
favorecidos pela privilegiada localizao geogrfica.
No incio do sculo XX, a regio Sul do ento Estado do Mato Grosso aspirava
desmembrar-se da regio Norte e formar um estado independente. Idia esta
rejeitada pela populao da regio Norte que temia o declnio econmico do estado.
O desmembramento da parte sul foi oficializado em 11 de outubro de 1977, sendo
que em 1 de janeiro de 1979 foi transformado definitivamente em Estado.
Segundo o Governo Federal da poca, o fato se deu devido grande extenso
ocupada pelo Estado do Mato Grosso que se apresentava dividido naturalmente pela
diversidade ecolgica a regio Norte prximo a Amaznia (coberta por florestas), e a
regio sul, (formada por campos e pantanal) e por dificuldades na administrao.
O novo Estado do Mato Grosso do Sul desde a sua criao (1979) at o ano de
1982 foi governado por um interventor nomeado pelo Presidente da Repblica. A
partir da ocorreu a primeira eleio para governador.
Localizao e rea Territorial
Situado ao sul da regio Centro-Oeste, latitude
1912'03 e longitude 5735'32, limita-se com os
Estados de: Mato Grosso - Norte, Gois e Minas
Gerais - Nordeste, So Paulo - Leste, Paran -
Sudeste e com o Paraguai - Sul e Sudoeste e com a
Bolvia - Oeste.
Com uma rea total de 358.158,7 km, o que
corresponde a 4,19% do territrio nacional,
apresenta uma populao de 2.075.275 habitantes (censo 2000) distribudos em 77
municpios.
Dentre as cidades mais populosas do estado esto a capital, Campo Grande,
Dourados, Corumb e Trs Lagoas. Interligando o Mato Grosso do Sul a outras
localidades esto 53.819 quilmetros de rodovias, destas 8,9% so pavimentadas. A
rede ferroviria por sua vez, conta com 1.208 quilmetros de extenso.
191
Mapa Geral
192
Mapa Rodovirio (CNT)
193
Mapa Hidrogrfico
194
Imagem de Satlite
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
195
Governo e rgos Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ms2.html
Governo
Governador: Jos Orcrio Miranda dos Santos
Vice-governador: Egon Krachecke
Parque dos Poderes - Bloco 08
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 318-1000 / 1113
Fax: (0xx67) 318-1120
Secretaria de Estado de Coordenao-Geral do Governo
Paulo Roberto Duarte (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 08
CEP. 79.031-902
Fone: (0xx67) 318-1132
Fax: (0xx67) 318-1024
Secretaria de Estado de Receita e Controle
Jos Ricardo Pereira Cabral (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 02
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 318-3200
Fax: (0xx67) 318-3290
Secretaria de Estado de Gesto Pblica
Ronaldo de Souza Franco (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 01
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 318-1300 / 1425
Fax: (0xx67) 326-4019
Secretaria de Estado de Planejamento e de Cincia e Tecnologia
Egon Krakhecke (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 03
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 318-4100 / 4053
Fax: (0xx67) 326-4038
Secretaria de Estado da Produo e do Turismo
Jos Antonio Felcio (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 12
CEP 79.031-902
Fone: (0xx67) 318-5000 / 5002
Fax: (0xx67) 318-5050
196
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Habitao
Maurcio Gomes de Arruda (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 14
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 318-5300 / 5430
Fax: (0xx67) 318-5352
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Marco Antonio Portocarrero (secretrio)
Rua Desembargador Leo Neto do Carmo, Qd.3 Setor 3 - Parque dos Poderes
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 3318-5600 / 5707
Fax: (0xx67) 3326-1570 / 4045
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrrio
Valteci Ribeiro de Castro Jnior (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 12
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 3318-5100 / 5270
Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer
Silvio Aparecido Nucci (secretrio)
Rua Manuel Incio de Souza, 386 - Jd dos Estados
CEP: 79.021-190
Fone/Fax: (0xx67) 3325-9872
Secretaria de Estado de Trabalho, Assistncia Social e Economia Solidria
Eloisa Castro Berro (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 03
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 3318-4100
Fax: (0xx67) 3318-4111
Secretaria de Estado de Educao
Hlio de Lima (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 05
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 3318-2200 / 2354
Fax: (0xx67) 3318-2310
Secretaria de Estado de Sade
Joo Paulo Barcellos Esteves (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 07
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 3318-1600 / 1720
Fax: (0xx67) 3326-4078
Secretaria de Estado de Justia e Segurana Pblica
Dagoberto Nogueira Filho (secretrio)
Parque dos Poderes - Bloco 06
197
CEP: 79.031-902
Fone: (0xx67) 3318-6700 / 6701
Fax: (0xx67) 3318-6894
rgos Ambientais
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
- Fundao Estadual de Meio Ambiente - Pantanal
Programas e Projetos Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ms3.html
Preveno e Combate s Queimadas
Mato Grosso do Sul desponta como terceiro no ranking nacional em nmero de
queimadas. Por isso, a preveno e o combate a focos de incndios em vegetaes
uma das prioridades na rea de Meio Ambiente. Para atuar no setor, o Governo do
Estado criou o Comit Interinstitucional de Preveno e Combate aos Incndios
Florestais. O grupo est vinculado Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cultura
e Turismo e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovveis (Ibama) e tambm composto por representantes de dez entidades. A
mobilizao no combate s queimadas conta ainda com produtores rurais e
ambientalistas que formaram brigadas contra incndios dentro das aes previstas
pelo Programa de Preveno e Combate aos Incndios Florestais (Previ Fogo),
criando Comits Municipais em todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Entre os
participantes esto a Polcia Rodoviria Federal, Defesa Civil, Exrcito, Base Area,
Corpo de Bombeiros e a Polcia Militar Ambiental, alm de Organizaes No
Governamentais (ONGs) locais.
Alerta
A preveno permanente a melhor maneira de evitar os danos causados pelos
incndios florestais. O perodo de maior perigo de ocorrncia de queimadas de
julho a outubro, quando a vegetao fica seca em funo das geadas e ao perodo
de estiagem. O uso indiscriminado do fogo tem causado destruio de cercas e
pastagens em propriedades rurais, ocasionado a morte de animais, fechamento de
aeroportos, desligamento de linhas de transmisso de energia eltrica, alm de
afetar a sade das pessoas, contribuindo para o aumento de doenas respiratrias,
como bronquites alrgicas.
Por que evitar as Queimadas?
No meio rural queimadas so utilizadas como forma barata de limpar pastos e
lavouras. No entanto, o fogo elimina tambm toda forma de vida do solo, como
plantas e animais, alm de destruir os microorganismos responsveis pela fertilidade
da terra. Com a cobertura vegetal destruda, o solo fica exposto ao sol, a chuva e o
vento e torna-se propenso a sofrer eroso.
198
Como evitar as Queimadas
Evite jogar cigarros s margens de rodovias. Os cigarros so grandes
causadores de focos de incndio, que se espalham rapidamente com o auxlio do
vento.
No queime folhas e galhos de rvores, principalmente no inverno quando o
material fica acumulado nas ruas e caladas. Pequenos focos de fogo produzem
tanta fumaa quanto uma grande queimada.
Construa aceiro s margens de estradas e cercas para evitar o alastramento do
fogo.
Como combater as Queimadas
Pea toda a ajuda possvel.
Enxadas, ps, abafadores e extintores costais so importantes instrumentos de
combate.
Se o fogo tomar grandes propores, necessrio a abertura de aceiros. Trator
ou motoniveladora so decisivos nestas ocasies.
O melhor momento para combater incndios logo aps seu incio. Portanto, a
vigilncia permanente a melhor forma de enfrentar o perigo.
Se for utilizar o contra-fogo, tome cuidado porque a prtica muito perigosa.
Tipos de Incndios Florestais
Incndios subterrneos - desenvolvem-se sob a superfcie do solo, queimando as
camadas de hmus e de turfa que ficam embaixo da floresta. Este tipo de
incndio no comum no Brasil.
Incndios superficiais - ocorrem na superfcie do solo, queimando a mata
orgnica de restos de vegetais no decompostos, o sub-bosque e as rvores
jovens. o tipo mais comum de incndios que podem dar origem tanto a
incndios subterrneos, como os incndios de copa.
Incndios de copa - queima as copas das rvores. A folhagem totalmente
destruda e as rvores geralmente morrem por causa do calor. Quase todos os
incndios de copa originam-se de incndios superficiais.
Causas dos Incndios
Negligncia - pontas de cigarros, fogueiras, fogueiras mal apagadas de
acampamento e de pescadores.
Incendirios - pessoas que colocam fogo propositadamente por maldade.
Agricultores - que fazem queimadas para fins de preparo do solo ou reforma de
pastagens, e no se preocupam em fazer aceiros e montar vigilncia. Em pocas
de seca, o fogo fica incontrolvel, passando para propriedades vizinhas e
causando grandes prejuzos.
Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Programa Pantanal
O Pantanal a maior rea continental inundvel do planeta, que abrange os estados
de Mato Grosso Grosso do Sul e Mato Grosso, no Brasil. A exuberncia de sua flora
e fauna faz do Pantanal um dos ambientes ecolgicos mais deslumbrantes da terra e
tem 70% de sua rea localizada em Mato Grosso do Sul.
199
A maior rea alagada do mundo, com 89.318 km em Mato Grosso do Sul, o
Pantanal abriga 300 espcies de peixe, 95 de mamferos, 167 de rpteis, 35
espcies de anfbios e 650 de aves. Muitas espcies em extino em outras reas
do pas encontram neste ambiente o cenrio ideal para a sua reproduo: onas-
pardas, araras, capivaras, tamandus-bandeira, tamandus-mirim, lobos guar,
veados-mateiro podem ser vistos em bando, passeando livremente.
Por ser to grande e to rica, a regio exige cuidados especiais e planos
estratgicos para sua preservao. Desenvolver sem destruir o grande desafio que
se impe para o Pantanal, daqui para a frente.
O que o Programa Pantanal?
O Programa Pantanal foi criado para garantir o desenvolvimento sustentvel e a
conservao da Bacia do Alto Rio Paraguai. A proposta envolve 31 municpios de
Mato Grosso do Sul, incluindo 35 aldeias indgenas, atingindo 1 milho e 152 mil
habitantes.
Com investimentos de US$ 200 milhes, a proposta, que est em fase conclusiva,
quer gerenciar e conservar os recursos naturais do Pantanal e - respeitando a fauna
e a flora local - incentivar atividades econmicas ambientalmente compatveis com
os ecossistemas, promovendo melhorias nas condies de vida populao carente
da regio.
Quais so os principais problemas do Pantanal?
Os problemas do Pantanal foram levantados pelo Plano de Conservao da Bacia
do Alto Paraguai (PCBAP) que, em parceria com as universidades federais de Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso, apontou as atividades econmicas como as
geradoras dos principais fatores nocivos ao meio ambiente. Atividades como a
agropecuria, a indstria e a explorao mineral ocasionam a degradao do solo, o
assoreamento dos rios, a poluio atmosfrica e a contaminao dos recursos
hdricos por resduos domsticos, agro-qumicos e despejos industriais.
Quem so os financiadores do Programa Pantanal?
O programa ser desenvolvido atravs da parceria entre os governos dos Estados
de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e o Governo Federal e conta com a
contrapartida externa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do
Japan Bank International Cooperation (JBIC). As duas instituies faro o aporte de
75% dos recursos financeiros necessrios, o que representa para Mato Grosso do
Sul US$ 150 milhes, os US$ 50 milhes restantes sero divididos entre a Unio e o
Governo do Estado, como contrapartida para o programa.
Como ser implementado o Programa Pantanal?
O Programa Pantanal prev investimentos de US$ 200 milhes s em Mato Grosso
do Sul durante cinco anos. O Programa est dividido em duas fases: a primeira
corresponde aos trs primeiros anos e a segunda aos dois anos restantes. Se os
resultados da primeira etapa forem considerados satisfatrios, novo contrato ser
assinado para a execuo do trmino.
Quais as medidas previstas no Programa Pantanal?
gerenciamento das Bacias e sub-bacias crticas;
200
saneamento bsico adequado, respeitando o meio ambiente;
promoo de atividades econmicas sustentveis ambientalmente corretas ao
seu ecossistema;
viabilizao de aes junto as sociedades indgenas e produtores rurais em
empreendimentos de ecoturismo, pesca e aquicultura, construindo a infra-
estrutura e assistncia tcnica necessrias;
implantao de reas de conservao visando a manuteno da biodiversidade e
os recursos genticos do Pantanal;
implantao e implementao de estradas-parque e a integrao e
desenvolvimento dos polos tursticos da regio;
outras medidas, complementares, esto sendo tomadas em relao ao cuidado
com a ictiologia dos rios do Estado e em especial com os da Bacia do Paraguai.
Merece destaque o cuidado existente em relao ao perodo de piracema e ao
esforo para implantar a pesca esportiva de pesque e solte em detrimento
pesca profissional e amadora, ambas muito predatrias.
O que a Bacia do Alto Paraguai (BAP)?
A Bacia do Alto Paraguai (BAP) atinge 496 mil quilmetros quadrados dos Estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Brasil, alm de reas no Paraguai e na
Bolvia. S em Mato Grosso do Sul, a BAP ocupa rea de 207.249 Km, envolvendo
toda a plancie e planalto do Pantanal, num total de 31 municpios.
Confira a rea de interveno do Programa Pantanal:
rea total da BAP 496.000 km
rea da BAP no Paraguai e Bolvia 99.200 km
rea da BAP no Brasil 396.800 km
rea da BAP no Mato Grosso do Sul 207.249 km
rea da BAP no Mato Grosso 189.551 km
rea de Planalto da BAP 64 %
rea de Plancie da BAP 36 %
rea de Plancie Pantaneira no Brasil 138.183 km
rea de Plancie Pantaneira no MS 89.318 km
rea de Plancie Pantaneira no MT 48.865 km
Populao Total de MS 1.927.834 hab.
Populao Urbana de MS 1.604.318 hab.
Populao Urbana da BAP 350.270 hab.
201
Populao Rural de MS 323.516 hab.
Populao Rural da BAP 117.460 hab.
Maiores informaes: http://www.semact.ms.gov.br
Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Aguap - Rede Pantanal de Educao Ambiental
O projeto Estruturao da Rede Pantanal de Educao Ambiental pretende
implantar e fortalecer aAguap Rede Pantanal de Educao Ambiental em rea de
abrangncia da Bacia do Alto Paraguai (BAP), atravs de um conjunto criativo de
aes locais, descentralizadas mas coordenadas por decises colegiadas,
embasadas no conhecimento tcnico cientfico e tendo como princpio a qualidade
da informao e sua democratizao por meio de vrios instrumentos de
comunicao. A iniciativa, que desconsidera os limites geopolticos sobre o ambiente
natural, visa suprir uma necessidade de ambos Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, onde se faz presente mais de 80% do Pantanal - indiretamente
pretende atingir tambm as reas do Pantanal no Paraguai e Bolvia. A inexistncia
de uma rede articulada especfica para tratar das questes ambientais, voltadas para
o processo de Educao Ambiental, leva a uma grande carncia para aes de
proteo e conservao da peculiar biodiversidade do Pantanal, reconhecidamente a
maior plancie alagvel do mundo, de vital importncia para o sustento de
comunidades tradicionais, ribeirinhas e indgenas biodiversidade. Tal iniciativa faz
jus aos ttulos que a regio recebeu recentemente: Patrimnio Natural da
Humanidade e Reserva da Biosfera Mundial
Para a estruturao da Aguap Rede Pantanal de Educao Ambiental foram
definidos 10 municpios-plo onde acontecero as aes do projeto: Cceres (MT),
Santo Antnio do Leverger (MT), Cuiab (MT), Campo Grande (MS), Aquidauana
(MS), Coxim (MS), Jardim (MS), Corumb (MS) e Porto Murtinho (MS). A Aguap,
no entanto, deve se expandir para todo o Pantanal e intercambiar informaes e
aes com outras redes de Educao Ambiental do Brasil.
METAS E PRODUTOS ESPERADOS So cinco grandes metas, que sero atingidas
mediante o desenvolvimento de uma srie de atividades. Para sua estruturao e
detalhamento das metodologias para a execuo das atividades foram feitas
seguidas reunies na Ecoa com as instituies parceiras as quais se
responsabilizaram por um conjunto de tarefas para a construo coletiva do projeto.
Deste modo o que est adiante apresentado decorre de intensas discusses e troca
de experincia. Por fim, a distribuio das atividades previstas e estabelecimento
das coordenaes das metas foram feitos de forma participativa, respeitando-se a
experincia e as aptides e quadro tcnico de cada parceira, cuidando-se para
descentralizar o uso dos recursos financeiros segundo programao oramentria
adequada para o cumprimento das atividades compactuadas.
Para que os objetivos deste projeto se concretizem sero realizadas as metas com
os seguintes produtos esperados:
1) Diagnstico da Situao da Educao Ambiental no Pantanal
Prazo de execuo: primeiros 4 meses da execuo do projeto.
202
Produtos esperados: Diagnstico do cenrio da educao ambiental nos estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, apontando os principais agentes e a
catalogao das principais instituies; produo de dois relatrios com lista e plano
de sustentabilidade da Rede Pantanal de Educao Ambiental.
2) Difuso de Informaes e Notcias Socioambientais.
Prazo de execuo: 18 meses
Produtos esperados: Disponibilizao on-line das informaes ao pblico sobre os
aspectos tcnicos, conceituais e pedaggicos da educao ambiental, alm de
disponibilizao de notcias socioambientais, produtos e informaes geradas pela
Rede Aguap; produo e distribuio de informaes regulares sobre prticas de
educao ambiental; produo de 9 edies impressas de revista informativo-
noticiosa com periodicidade bimestral; produo e difuso de conhecimento tcnico
em educao ambiental, com a confeco de artigos elaborados por tcnicos que
atuam na rea de meio ambiente/educao ambiental/educao.
3) Capacitao de Agentes Multiplicadores para gesto e educao Ambiental em
Rede
Prazo de execuo: 6 meses
Resultados esperados: Curso de capacitao para trabalho em rede aliado
Educao Ambiental com 30 vagas gratuitas, sendo que 20 esto garantidas para a
participao de dois representantes moradores dos 10 municpios-plo definidos no
projeto; o curso dividido em trs mdulos: 1-Estratgia de organizao e
manuteno em redes; 2- Poltica Ambiental, Legislao e educao Ambiental em
Rede e 3-Planejamento e Gesto Ambiental em Rede. Sero dois meses para cada
mdulo, com aulas tericas nos trs iniciais e nos dois ltimos. Durante o intervalo
entre as aulas tericas, os alunos desenvolvero atividades prticas demonstrativas,
alm de se articularem com os atores da educao ambiental local.
4) Animao da Rede, Articulao e Mobilizao
Prazo de execuo: 18 meses
Resultados esperados: Promoo de 10 reunies multidisciplinares e de articulao;
realizao de 10 visitas tcnicas; realizao de 6 seminrios temticos; realizao
de 6 oficinas de intercmbio.
A Aguap Rede Pantanal de Educao Ambiental estar organizada de forma
descentralizada. Os instrumentos a serem criados por meio de Stio Web, Lista de
Discusso On line e comunicao via fax, telefone e correio eletrnico permitiro a
permanncia e a participao democrtica de membros da rede virtual, a ECOA
estabeleceu parcerias com as entidades Universidade Federal de Mato grosso do
Sul (UFMS), Secretaria de Estado de Educao de MS (SED/MS), Instituto Brasileiro
de Inovaes pr-Sociedade Saudvel Centro Oeste (IBISS-CO), Mulheres em
Ao no Pantanal. (MUPAN) e Instituto de Meio Pantanal (IMAP/MS) que visam
assegurar a qualidade de produtos gerados e das informaes e dados a serem
divulgados.
Foi criada tambm a categoria de Associado rede, na qual pessoas fsicas ou
jurdicas podero se tornar membros da rede e participar de discusses, eventos e
atividades, bem como receber materiais produzidos como revista impressa,
relatrios, diagnstico e demais informaes geradas pelas aes da rede sem nus
para si.
Mais informaes: www.redeaguape.org.br
203
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&co
nteudo=./estadual/ms4.html
Pantanal e Planalto Sedimentar do Paran representam as duas unidades de relevo
presentes no estado de Mato Grosso do Sul.
Situado na poro oeste est o Pantanal ou baixada do Paraguai, ocupa
aproximadamente 120.000 m de rea do estado. Trata-se de uma rea sujeita as
cheias do rio Paraguai, constitui assim a maior plancie inundvel do Brasil e uma
das mais extensas do mundo.
Quanto s altitudes estas variam entre 100 e 300m, representando as partes mais
baixas do Mato Grosso do Sul. No sentido do interior do estado, encontram-se
algumas elevaes com altitude aproximada de 600m - Serra da Bodoquena. Outra
elevao de importncia neste territrio o Morro Grande com 1.160m, simboliza o
ponto culminante local e est situado no macio de Urucum.
Ocupando a maior parte da superfcie estadual est o Planalto Sedimentar do
Paran. Esta unidade de relevo tem por caractersticas apresentar altitudes pouco
superiores as da unidade anterior, de 400 a 800m, tendo a Serra de Maracaju entre
as mais importantes pois serve como divisor de guas entre os rios da bacia do
Paraguai e da bacia do Paran.
Clima
O clima predominante na regio o tropical, quente e semi-mido, marcado por
chuvas no vero e perodos secos durante o inverno, podendo estes perodos
prolongar-se por at quatro meses na zona pantaneira.
Com relao as temperaturas, estas podem variar conforme a unidade de relevo
local. Por exemplo, no Planalto Sedimentar do Paran, as mdias anuais giram em
torno dos 23C, j no Pantanal registram-se aproximadamente 26C durante todo o
ano (mdia). O ndice pluviomtrico anual do estado de 1.500mm; a regio em que
mais chove o Pantanal registrando por ano 1.250mm.
Outro tipo climtico pode ser encontrado no Mato Grosso do Sul. Tropical de altitude
ocorrendo no extremo sul do Estado (prximo do Paran), com veres chuvosos e
invernos secos. O perodo de inverno rigoroso registrando temperaturas prximas
a 0, com isto, as geadas so freqentes nesta poca. Nesta poro do estado a
temperatura mdia anual supera em poucos graus a 20C; as chuvas atingem no
mximo 1.500mm.
Hidrografia
representada pelo seu maior rio, o Paraguai, que nasce no estado do Mato
Grosso, atravessa o Pantanal e segue em direo ao Paraguai. Seus principais
afluentes dentro do territrio estadual so o Apa (divide parcialmente o estado com o
Paraguai) e o Taquari.
Outro representante hidrogrfico do Mato Grosso do Sul a bacia do rio Paran que
corre na direo sudeste, dividindo naturalmente Mato Grosso do Sul de So Paulo
204
e do Paran continuando para o sul. Os afluentes mais importantes do rio Paran
presentes no territrio so o Apor (limita Mato Grosso do Sul e Gois), o Sucuriu, o
Verde e o Pardo.
Alm dos rios, vrias lagoas se fazem presentes em sua maioria no Pantanal,
merecendo destaque as lagoas de Guaba, Uberaba e Mandior localizadas na
fronteira com a Bolvia.
Vegetao
Recobrindo 65% do Mato Grosso do Sul, est o cerrado. Em reas de plancie
aluvial ocorre o chamado complexo Pantanal, formado por uma combinao de
cerrados e campos. A vegetao de campos se faz presente em 5% da rea
estadual, em pequena poro do municpio de Campo Grande.
Reconhecido como santurio ecolgico pela diversidade de espcies faunsticas,
tambm a flora vem a reforar este ttulo pela imensa variedade existente como:
palmeiras, orqudeas, fafeno, taboa, pastagens nativas, plantas apcolas,
comestveis, tanferas, medicinais entre outras.
Pantanal - Patrimnio de Reserva Natural da Humanidade (UNESCO)
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./natural/index.html&conteu
do=./natural/biomas/pantanal.html
Localizao
Ocupa grande parte do centro oeste
brasileiro e se estende pela Argentina,
Bolvia e Paraguai, onde recebe outras
denominaes. Dificilmente pode ser
estabelecido um clculo exato de suas
dimenses, sabendo-se, porm, que a
poro brasileira, localizada em partes dos
Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso
do Sul, est estimada em cerca de 150.000
Km.
Situado no centro do Continente Sul-Americano, o Pantanal circundado, do lado
brasileiro (Norte, Leste e Sudeste), por terrenos de altitude entre 600-700 metros,
entre os paralelos de 150 a 220 de latitude sul e os meridianos de 550 e 580 de
longitude oeste.Estende-se a oeste at os contrafortes da Cordilheira dos Andes
e se prolonga ao sul pelas plancies pampeanas centrais.
Caracterizao
Na regio pantaneira, a paisagem altera-se profundamente nas duas estaes
bem definidas do ano: a seca e a chuvosa. Durante a seca, nos campos extensos
cobertos predominantemente por gramneas e vegetao de cerrado, a gua
chega a escassear, restringindo-se aos rios perenes de leitos definidos, s lagoas
prximas a esses rios e a alguns banhados em reas mais rebaixadas da
plancie.
205
De novembro a maro, o Pantanal vive o perodo das cheias. A vegetao muda
segundo o tipo de solo e de inundao, predominando espcies de cerrado nas
terras arenosas - conhecido como Pantanal Alto - e gramneas nas terras
argilosas, do Pantanal Baixo. Com as cheias, as depresses so inundadas,
formando extensos lagos, reconhecidos como Baas, de extrema beleza,
principalmente se forem alcalinas. Apresentam diferentes cores em suas guas,
de acordo com as algas que ali se desenvolvem, e criam matizes de verde,
amarelo, azul, vermelho ou preto.
Com a subida das guas, volumosa quantidade de matria orgnica carregada
pela correnteza a grandes distncias. Durante a vazante, esses detritos so
depositados nas margens e praias de rios, lagoas e banhados, passando a se
constituir em elementos fertilizantes do solo.
De abril a setembro a estao seca ou inverno, com chuvas raras e temperatura
bastante agradvel. Durante o dia, pode fazer calor, mas as noites so frescas ou
frias. Com o incio das chuvas, geralmente em outubro, comea o vero, que se
prolonga at maro. A temperatura, bastante elevada, s cai durante e logo aps
as pancadas de chuvas fortes, voltando a subir at que novamente as grossas
massas de gua desabem sobre a regio. quando o Pantanal, mido e quente,
transforma-se em um imenso alagado onde os rios, banhados e lagoas se
misturam. A partir de maro, o nvel das guas vai baixando e o Pantanal comea
a secar. No pice da seca, entre julho e setembro, a gua fica restrita aos leitos
dos rios ou aos banhados e lagoas localizadas em pores baixas da plancie, em
permanente comunicao com os rios ou com o lenol fretico.
As primeiras chuvas da estao caem sobre um solo seco e poroso e so
facilmente absorvidas. Com o constante umedecimento da terra, a plancie
rapidamente se torna verde devido ao rebrotamento de inmeras espcies
resistentes falta de gua dos meses precedentes.
Clima e Hidrografia
No Pantanal, o clima, predominantemente tropical,
apresenta caractersticas de continentalidade, com
diferenas bem marcantes entre as estaes seca e
chuvosa. Localizada na poro centro-sul do Continente
Sul-Americano, a regio no sofre influncias ocenicas,
mas est exposta invaso de massas frias provenientes
das pores mais meridionais, com penetrao rpida
pelas plancies dos pampas e do chaco.
A temperatura, usualmente alta, pode baixar rapidamente
(ficando as mnimas prximas a 0C e as mximas a 40C)
e at haver ocorrncias de geadas. As mdias anuais
registradas, em torno de 25C, tm como mnima 15C e
mxima 34C.
Quanto hidrografia, os rios formadores do Pantanal foram o Paraguai, Cuiab,
So Loureno, Piquiri, Taquari, Aquidauana, Miranda e Apa.
206
Hidrograficamente, todo o Pantanal faz parte da Bacia do Rio Paraguai. Com
1.400 Km de extenso em territrio brasileiro, esse rio e seus afluentes: So
Loureno (670 Km), Cuiab (650 Km) - ao norte, Miranda (490 Km), Taquari (480
Km), Coxim (280 Km), Aquidauana (565 Km) ao sul, assim como rios de menores
extenses, Nabileque, Apa e Negro, formam a trama hidrogrfica de todo
complexo pantaneiro. Alm dos rios, o Pantanal uma imensa plancie de reas
alagveis.
Na poca das cheias, em poucos dias o solo se encharca e no consegue mais
absorver a gua da chuva que passa a encher os banhados, as lagoas e
transbordar dos leitos mais rasos, formando cursos de localizao e volume
variveis.
Esse grande aumento peridico da rede hdrica no Pantanal, a baixa declividade
da plancie e a dificuldade de escoamento das guas pelo encharcamento do solo
so responsveis por inundaes nas reas mais baixas, o que confere regio
um aspecto de imenso mar interior. Somente os terrenos mais elevados e os
morros isolados sobressaem como verdadeiras ilhas com vegetao, onde muitos
animais se refugiam procura de abrigo contra a subida das guas.
Essa imensa plancie, levemente ondulada, pontilhada por raros morros isolados
e rica em depresses rasas, tem seus limites marcados por variados sistemas de
elevaes, como chapadas, serras e macios e cortada por grande quantidade
de rios, todos pertencentes Bacia do Rio Paraguai.
Classificao dos Pantanais
Atualmente existem trs classificaes dos Pantanais: classificao segundo o
IBGE, classificao segundo o Professor Jorge Admoli e a classificao segundo
o Macrozoneamento Geoambiental do Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Macrozoneamento Geoambiental de Mato Grosso do Sul, pode-
se identificar os seguintes Pantanais no Estado:
Pantanal de Uberaba-Mandior
Ao sul de Porto Trs Bocas, o Rio Paraguai recebe o Cuiab em sua margem
esquerda, apresentando alguns braos na margem direita que desguam no prprio
rio alguns quilmetros mais ao sul. A Serra do Amolar contribui para provocar essas
descargas. Um amplo setor compreendido entre Porto Trs Bocas e Ilha da Figueira,
permanece inundado quase todo o ano, conformando uma espcie de nvel de base
local. Contribuem, para isso, os derrames aluviais da margem esquerda do Rio
Cuiab.
Pantanal da Nhecolndia
O referido Pantanal se destaca no conjunto do macroleque aluvial do Rio Taquari e
caracterizado por uma extensa rea flvio-lacustre. Sua sedimentao est
vinculada a cursos intermitentes e defluentes do Rio Taquari quando de suas cheias.
Estes apresentam um padro de drenagem do tipo multibasinal.
A rea apresenta um grande nmero de baas, com caractersticas peculiares:
muitas so salinas, sem vegetao aqutica outras de gua doce, com vegetao de
aguap. So circuladas por cordilheiras e a conexo entre uma baa e outra se d
207
atravs das vazantes. Muitas dessas baas tm gua salobra, o que dificulta o
desenvolvimento da vegetao aqutica. Na rea h o predomnio dos solos
Podzlicos Hidromrficos.
Pantanal de Paiagus
Compreende toda a poro NE do macroleque aluvial do Rio Taquari, no interflvio
Piquiri-Taquari e na margem esquerda deste, a nordeste do Pantanal de
Nhecolndia. Prolonga-se a oriente at o mdio curso do Rio Negro, onde se
distingue uma vasta faixa de espraiamentos aluviais, caracterizado como de fraca
inundao.
Esta rea, segundo Sanchez (1977), corresponde a derrames aluviais antigos, com
alta e mdia densidade de canais e leitos anastomosados de escoamento
temporrio. Para esse autor, os depsitos aluviais antigos so submetidos a
processos geomorfolgicos que implicam na lixiviao, transporte e sedimentao
de materiais superficiais de alguns solos em locais mais baixos. Toda essa rea
comporta solos Podzlicos Hidromrficos.
Pantanal do Negro-Aquidauana
Corresponde a uma rea de alagamento temporrio. Apresenta baas dispersas e,
s vezes, concentradas. A maior parte das baas seca durante um perodo do ano.
Pantanal do Negro-Miranda
Caracterizado como rea de forte inundao, o referido Pantanal corresponde
plancie de inundao do Rio Negro e de alguns afluentes de seu curso superior, que
nas grandes cheias recebe, atravs de corixos, as guas que transbordam do Rio
Aquidauana. Toda a margem esquerda do curso do Rio Negro, nesse Pantanal, est
inserida nessa plancie deprimida, que se constitui numa rea brejosa durante vrios
meses do ano. Comporta solos do tipo Vertissolo e uma estreita faixa de Areias
Quartzosas Hidromrficas.
Pantanal do Baixo Taquari-Paraguai
O Rio Taquari apresenta ampla faixa de depsitos aluviais que se alarga na jusante
como um delta e de onde se estende para norte, delineando estreita faixa aluvial.
Em todo o trecho cortado pelo Rio Taquari, o referido Pantanal corresponde
plancie de inundao desse rio e apresenta numerosos canais de cheias, que
contribuem para a inundao da rea.
A estreita faixa aluvial que margeia o Rio Paraguai corresponde a espraiamentos
aluviais antigos associados margem direita do Rio Taquari. So terrenos que
permanecem alagados por um longo perodo do ano. Na estiagem, ocorrem
eventualmente emerso de ilhas coalescentes. Nessa poca, os solos hidromrficos,
Glei Pouco Hmicos, favorecem o desenvolvimento de gramneas.
Pantanal do Aquidauana-Miranda
Entre os Rios Paraguai e Nabileque (a ocidente) e o Rio Taboco (a oriente), o
referido Pantanal limita-se a norte com o Pantanal do Negro-Miranda. A sul
balizado pela Depresso do Miranda e pelas Plancies Coluviais Pr-Pantanais.
O setor oriental tem um alagamento peridico, pela juno das guas dos Rios
Negro e Taboco, que aumentado pelas guas do Aquidauana. A ligao entre as
baas, em perodo de estiagem, feita atravs da gua de subsolo.
208
Na parte central e ocidental, as aluvies da margem direita do Rio Miranda e as
aluvies da margem esquerda do Rio Aquidauana se expandem para a zona
interposta entre eles, ocasionando, a norte, uma coalescncia de sedimentos
aluviais, carreados pelos corixos, em demanda do rio principal.
Esse Pantanal caracterizado como rea de transio, porque alm de representar
um alagamento mediano, tem uma grande variedade botnica, correspondente a
ambientes diversos.
Pantanal do Castelo-Mangabal
Situado a sul do Pantanal de Paiagus, recebe a presente denominao porque as
vazantes Castelo e Mangabal cortam a rea e vertem para o Rio Negro.
Apresenta um grande nmero de baas que tm suprimento de gua apenas num
perodo do ano, o que leva a supor que muitas delas estejam associadas a
ambientes de amplas vazantes, o que condicionaria seu regime hdrico.
Pantanal do Corixo-Piva-Viveirinho
Na margem direita do rio, ao lado do delta do Rio Taquari (Pantanal do Baixo
Taquari-Paraguai), distingue-se uma rea de mediano alagamento, que se amplia
para sudoeste e se prolonga para norte at o Pantanal de Uberaba-Mandior. Trata-
se do Pantanal do Corixo-Piva-Viveirinho, que corresponde a espraiamentos
aluviais antigos, atualmente recobertos por sedimentos mais recentes (areias, silte e
argilas).
Apresenta grande nmero de canais intermitentes, com padro de drenagem
anastomosado. Contm, ainda, um grande nmero de baas que se apresentam
desprovidas de gua no perodo de estiagem. Predominam os Planossolos
eutrficos, e os solos Podzol Hidromrficos.
Na borda esquerda do Rio Taquari, entre os Pantanais do Baixo Taquari-Paraguai,
de Nhecolndia e do Negro-Miranda, tambm ocorrem sedimentos antigos que se
encontram recobertos por sedimentos recentes. Nestas reas, registram-se baas
dispersas e um grande nmero de vazantes com padro de drenagem
anastomosado.
Pantanal da Baa Vermelha-Tuiui
O referido Pantanal corresponde a duas reas de espraiamentos aluviais do Rio
Paraguai, as quais so inundveis por drenos intermitentes e por precipitaes
locais. Esses espraiamentos aluviais funcionam, via de regra, como plancie de
inundao atual dos sistemas Paraguai-Baia Vermelha e Paraguai-Lagoa de
Cceres.
O setor setentrional margeia a Serra do Bonfim e apresenta solos Hidromrficos Glei
Pouco Hmicos. O setor meridional, situado nos limites com o territrio boliviano,
apresenta Vertissolos com encrave Savana/Savana Estpica, que registra o limite
setentrional dessa formao.
Pantanal do Apa-Amonguij-Aquidab
Corresponde aos espraiamentos aluviais marcados por fraca inundao, vinculados
s cheias dos Rios Paraguai e Nabileque e de seus afluentes Apa, Amonguij e
Aquidab. Os derrames aluviais que ocorrem nas reas interpostas entre os rios
209
principais e seus afluentes, juntam-se com os derrames aluviais nas zonas das
plancies de inundao tpicas dos Rios Paraguai, Nabileque e Apa. O escoamento
nas referidas reas interfluviais realizado atravs de inmeros canais e leitos
temporrios.
Pantanal do Rio Verde
Corresponde a espraiamentos aluviais de variadas direes ligadas aos sistemas da
Lagoa de Jacadigo-Rio Verde. Trata-se de uma rea embaciada, com alagamento
temporrio intermedirio. Apresenta diversos canais de entrada de gua e carga de
sedimentos e estreitamente ligados ao conjunto de morrarias vizinhas.
As chuvas locais, as cheias do Rio Verde, o transbordamento da Lagoa de Jacadigo
e a contribuio de guas vindas das baixadas de algumas morrarias circundantes
formam o complexo quadro de entrada de gua que colaboram para o alagamento
da rea.
Pantanal do Jacadigo-Nabileque
No extremo oeste do Estado, contornando o Macio de Urucum e as zonas
pediplanadas que o envolvem, encontra-se o Pantanal do Nabileque-Jacadigo. A
pequena declividade, decorrente das altimetrias inexpressivas, com cotas em torno
de 85 metros, possibilita um forte encharcamento da rea. Plancies fluviais e
espraiamentos aluviais dos Rios Paraguai e Nabileque caracterizam a unidade.
A partir do Forte Coimbra, em direo sul, comeam a definir-se elementos
fisionmicos tpicos das regies chaquenhas, que se alternam s espcies comuns
do complexo pantaneiro.
Geologia, Relevo e Solos
O Pantanal uma das maiores plancies de sedimentao do mundo. Sua
plancie, levemente ondulada, pontilhada por raros morros isolados e rica em
depresses rasas tm seus limites marcados por variados sistemas de elevaes,
como chapadas, serras e macios. cortado por grande quantidade de rios,
todos pertencentes Bacia do Rio Paraguai.
As terras altas do entorno, muitas delas de origem sedimentar ou formadas por
rochas solveis e friveis, continuamente erodidas pela ao do vento e das
guas, fornecem grande quantidade de sedimentos que so depositados na
plancie, num processo contnuo de entulhamento. Formam-se assim terrenos de
aluvio, muito permeveis, de composio argilo-arenosa.
Nas regies de altitude intermediria, onde o solo arenoso e cido e a gua
retida apenas no sub-solo, encontra-se vegetao tpica de cerrado. Os
elementos predominantes neste tipo de formao so as rvores de porte mdio,
de casca grossa, folhas recobertas por plos ou cera e razes muito profundas.
Elas se distribuem no muito prximo umas das outras, entremeadas de arbustos
e plantas rasteiras, representadas por inmeras espcies de ervas e gramneas.
Na poca da seca, como proteo contra a dessecao, muitas rvores e
arbustos perdem totalmente os ramos e folhas. Outros limitam-se a derrubar as
folhas, mas os ramos persistem e podem florescer. Nessa poca, comum a
prtica de queimadas nas fazendas, para limpar o campo das partes secas da
vegetao. Realizada de maneira controlada, a queimada no de todo
210
prejudicial, como seria em outros ambientes, pois estimula o rebrotamento de
muitas plantas do cerrado. No entanto, se o fogo se alastrar repentinamente por
outras reas, muitos animais e vegetais podero ser sacrificados. Assim, essa
prtica s ser aconselhvel se puder ser executada com bastante cuidado.
Em regies mais baixas e midas, onde as gramneas predominam, encontram-
se os campos limpos, pastagens ideais para a criao do gado que l convive em
harmonia com muitas espcies de animais silvestres.
Em pequenas elevaes, quando o solo rico, encontram-se capes de mato
formados por rvores de porte elevado, como aroeira, imbiruu, angico, ips.
Durante as chuvas, a maioria dos campos limpos inundada, mas os capes
permanecem secos.
Margeando os rios, encontram-se as matas-ciliares ou matas-galeria, com
larguras variveis. So formadas por vegetais de grande e mdio porte,
intercalados por arbustos e ricas em trepadeiras ou lianas. Entre as espcies
vegetais mais comuns nessas matas esto o tucum, o jenipapo, o cambar e o
pau-de-novato.
Flora
A vegetao do Pantanal um mosaico de matas, cerrades, savanas - com
espcies como cambar-lixeira, canjiqueira, carand, etc, campos inundveis de
diversos tipos, brejos e lagoas com plantas tpicas como camalotes. No Pantanal,
comum a ocorrncia de formaes vegetais, entre elas esto os carandazais,
nos quais o elemento predominante a palmeira carand, os buritizais, onde
domina a palmeira buriti e os paratudais, formados por um tipo de ip, o paratudo.
A flora pantaneira tem alto potencial econmico: pastagens nativas, plantas
apcolas, comestveis, tanferas e medicinais.
Nas beiras dos rios h uma mata-de-galeria ou mata ciliar, com espcies vegetais
como o tucum, o jenipapo, o cambar e o pau-de-novato.
Fauna
Este patrimnio ecolgico, habitado por inmeras espcies de mamferos, rpteis, e
aves e peixes, tem uma vegetao exuberante e traduzido
em movimento de formas, cores e sons, mostrando-se um
belo espetculo. A fauna bastante rica e diversificada.
Porm, h muitas espcies ameaadas de extino:
capivara, tamandu-bandeira, tamandu-mirim, lobinho,
veado-mateiro, entre outros.
So cerca de 230 espcies de peixes, destacando-se a
piranha, o pintado, o pacu, o curimbat e o dourado. O maior
peixe do Pantanal o ja, um bagre gigante, pesa at 120
Kg, e chega a 1,5 metros de comprimento, e o maior peixe
do mundo, est na Amaznia - o pirarucu que atinge 3
metros do comprimento e 200 Kg.
211
O jacar-do-pantanal, quase inofensivo ao ser humano, atinge 2,5 metros de
comprimento e alimenta-se de peixes. O jacar-au atinge 6 metros de
comprimento. Pode mudar de cor para se camuflar e s ataca quando ameaado.
A sucuri-amarela-do-pantanal mede at 4,5 metros, alimenta-se de peixes, aves e
pequenos mamferos. Raramente ataca pessoas. A sucuri amaznica mede at
10 metros e capaz de engolir uma capivara adulta.
Cerca de 650 espcies de aves povoam a regio, entre eles, o tuiui, ave-smbolo
do Pantanal, com as asas abertas ultrapassa os 2 metros de envergadura.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&co
nteudo=./estadual/ms5.html
Dispem de vrios atrativos tursticos para todos os gostos, ambientes naturais de
belezas raras, rios com grande variedade de peixes, ecossistemas complexos
preservando-se a biodiversidade local e, o mais conhecido de todos os atrativos, o
Pantanal sul-matogrossense.
Considera-se o pantanal como um grande viveiro natural; cerca de 665 espcies de
aves, 263 de peixes e aproximadamente duas mil espcies de plantas so
encontradas na regio.
O turismo deste estado divide-se basicamente em turismo de pesca, negcios,
contemplativo e aventura sendo que, 40% dos atrativos so naturais e ecolgicos,
16% histrico-culturais, 28% folclricos, 6% realizaes tcnicas e cientficas e os
outros 10% eventos programados.
Algumas cidades sul-matogrossenses j apresentaram e buscaram implementos
para utilizarem seu potencial turstico, so elas:
Aparecida do Taboado
Margens do rio Paran
Praias naturais, fazendas, balnerios Lago Azul,
Lagoa Suja e Biquinha. Pratica-se tambm o turismo
desportivo, rural, nutico, pesca amadora e histrico-
cultural
Bataguassu
Margens do rio Paran, sendo
cortado pelo rio Pardo
Seus rios so ricos em peixes, o que atrai muitos
pescadores; o turismo de eventos tambm bastante
difundido
Bonito
Est a 249 km (via km 21) e
314 km (via Guia Lopes da
Laguna) da Capital
Grutas, aqurio natural, cachoeiras, hotis fazendas
so encontrados na localidade que vm atraindo
turistas do mundo todo. Constituem-se pontos mais
visitados em Bonito: Gruta do Lago Azul (lago com
areias coloridas), Aqurio Natural Baa Bonita,
cachoeiras do rio do Peixe e Mimoso, mergulho no rio
Aquidaban, passeios de bote at a Ilha do Padre etc.
212
Campo Grande
Capital do Estado
Atraes naturais no lhe faltam como a reserva
florestal do Parque dos Poderes, o Centro de
Reabilitao de Animais Silvestres, o Parque das
Naes Indgenas e o Horto Florestal. Predominam o
turismo de negcios, desportivo, rural, cultural,
ecoturismo, religioso, gastronmico e de eventos.
Corumb (capital do pantanal)
Margens do rio Paraguai,
fronteira com a Bolvia
Hotis fazenda, locais histricos e culturais como o
Mirante do Morro do Azeite, Mirante do Pantanal,
Museu do Pantanal (Instituto Luiz de Alburquerque),
Casario do Porto, o artesanato local apreciado na
Casa Massabarro e na Casa Arteso constituem-se
atraes para os que vm cidade em busca do
turismo rural, cultural, ecoturismo, religioso, nutico,
pesca amadora e de lazer. Cerca de 27% dos turistas
que passam por Corumb so estrangeiros, boa parte
deles vindos da Alemanha, Itlia, Bolvia, Israel,
Estados Unidos, Peru, Holanda, Suia, Paraguai,
Colmbia e Chile
Costa Rica
Est a 339 km de Campo
Grande
Orquidrio, furnas, cachoeiras, canions, grutas com
escrituras rupestres e outros atrativos tm
potencializado o municpio para o turismo de aventura
e ecolgico
Coxim
Est a 258 km da capital
Praias, balnerios, cachoeiras so encontradas
desenvolvendo ainda mais o turismo de pesca, rural,
cultural, de negcios, aventura e ecoturismo. Coxim
chama a ateno pelo fenmeno do rio Correntes que
submerge na terra, surgindo 800 metros abaixo
atravs de uma caverna
Dourados
219 km de Campo Grande
o segundo municpio mais habitado do estado
sendo sua populao composta por gachos,
paraguaios e ndios caius. Vrios bancos,
faculdades e indstrias esto instaladas na cidade
movimentando o turismo de negcios, desportivo,
rural e cultural.
Jardim
Distante 265 km da capital
Rapel, mergulho, passeios contemplativos promovidos
pelos hotis fazendas da regio integram o turismo de
aventura, ecolgico e rural praticados no municpio que
ainda conta com outros atrativos como: o Recanto
Ecolgico Rio da Prata, o balnerio municipal, o Buraco do
Sapo abrigando fsseis de mamute, preguia gigante,
cavalo pr-histrico, sucuri gigante e peixes albinos
Ponta Por
Fronteira com o Paraguai
Por ser porta de entrada para o Paraguai, o municpio
recebe muitos visitantes que seguem s compras
213
em Pedro Juan Caballero difundindo de certa forma o
turismo de negcios na regio
Porto Murtinho
Fronteira com o Paraguai
Tem seu potencial turstico voltado para o lazer, a
pesca, os desportos e atividades rurais. Alguns
turistas chegam a atravessar o rio Paraguai em
direo a Isla Margarita (compras)
So Gabriel do Oeste
141 km de Campo Grande
Volta-se para a agricultura e indstria frigorfica; conta
tambm com grutas, nascentes, saltos e cachoeiras,
todos estes distribudos por vrias fazendas da regio
Sonora
Fica a 360 km de Campo
Grande
Por ser banhado pelos rios Piquiri e Correntes,
Sonora dispem de inmeras praias e balnerios
fluviais freqentados por aqueles que praticam o
turismo de pesca na regio
Trs Lagoas
Divisa de Mato Grosso do Sul
com So Paulo
Usina Hidreltrica de Jupi, construda na divisa dos
estados de Mato Grosso do Sul e So Paulo, praias,
rios, balnerios formando locais propcios para o
ecoturismo, turismo nutico, pesca e tambm de
negcios. Tm como principal ponto turstico a Lagoa
Maior
Alm destas cidades - plo tursticas - o local mais procurado por todos os turistas
sem dvidas o pantanal.
Trata-se de uma rea de aproximadamente 140 mil hectares, abrangendo Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul sendo a maior extenso em terras sul-mato-
grossenses. Rica em diversidade (flora e fauna) merece preservao, controle e
fiscalizao por parte das autoridades.
Freqncia Turstica
Dados demonstram que de 1994 a 2000 o nmero de turistas vm aumentando ano
a ano, s em 2000 cerca de 1,5 milho de pessoas passaram por Mato Grosso do
Sul. A regio pantaneira recebe turistas em sua maioria brasileiros, de diversos
estados, em especial de Mato Grosso do Sul, So Paulo, Rio de Janeiro, Paran,
Gois, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
214
Pontos Tursticos de Campo Grande
Museu da Arte Contempornea Monumento da Imigrao Japonesa
Museu Dom Bosco (Museu do ndio) Museu Jos Antonio Pereira
Horto Florestal Marco da Fundao
Praa das Naes Indgenas Parque Florestal Antonio de Albuquerque
Casa da Memria de A. Estevo de
Figueiredo
Monumento do Avio
Centro de Convenes Centro Cultural Jos Otvio Guizzo
Obelisco Conjunto Ferrovirio Pao Municipal
Estdio Belmar Fidalgo Parque de Exposies Laucdio Coelho
Igreja de So Francisco Lago do Amor
Parque dos Poderes Parque Itanhag
Penso Pimentel Praa das Araras
Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul
Estdio Pedro Pedrossian
215
ESTADO DE MATO GROSSO
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/mt.html
Histria, Povoamento e Colonizao
Atrados pelas riquezas que existiam, bandeirantes e aventureiros migraram para a
regio. O primeiro a chegar, por volta de 1525, foi o portugus Pedro Aleixo Garcia.
Conforme prescrevia o Tratado de Tordesilhas, as terras pertenciam Espanha.
Jesutas espanhis ali presentes desde o incio do sculo XVII fundaram misses
entre os rios Paran e Paraguai. Descobriu-se ouro na regio, fato que atraiu muito
mais desbravadores e acelerou o povoamento local. At a definio das fronteiras a
cargo de Portugal e Espanha atravs dos Tratados de Madri (1750) e Santo
Ildefonso (1777), Portugal expandiu seus domnios construindo vilas e fortes visando
proteger as terras de ataques espanhis e originando a capitania de Mato Grosso.
O incio do sculo XIX foi marcado pelo declnio da produo de ouro e conseqente
decadncia da economia da regio. O movimento separatista de 1892 contra o
governo do ento Presidente Floriano Peixoto fracassou. Disputas ocorridas entre o
norte e o sul culminaram em 1917 na interveno federal no Estado.
O crescimento econmico s foi retomado na primeira metade do sculo XX com a
chegada de seringueiros, criadores de gado e ervateiros (exploradores de erva-
mate). Com o desmembramento do Estado em 1977, criou-se o Estado de Mato
Grosso do Sul.
O nome Mato Grosso originou-se em 1730 com exploradores que ao chegar,
depararam-se com matas muito espessas. Embora este tipo de vegetao no
ocorra em toda a superfcie do Estado, o nome foi mantido e oficializado (Carta
Rgia, 9 de maio de 1748).
Localizao e rea Territorial
Localizado na parte ocidental da regio
Centro-oeste do Pas, com uma rea de
906.806,9 km, abriga 2.498.502 habitantes.
Faz limite com:
Norte: Amazonas e Par
Sul: Mato Grosso do Sul
Leste: Tocantins e Gois
Oeste: Bolvia e Rondnia
O Estado divide-se em 139 municpios, os
quais so interligados entre si e com outras
localidades por 82.004 quilmetros de
rodovias (4,8% pavimentadas).
216
Mapa Geral
217
Mapa Rodovirio (CNT)
218
Mapa Hidrogrfico
219
Imagem de Satlite
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
Governo e rgos Ambientais
Governo
Governador: Blairo Borges Maggi
Vice-governador: Iraci Araujo Moreira
Palcio Paiguas - Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-4121
Fax: (0xx65) 3613-4120
Secretaria de Estado de Administrao
Marcos Henrique Machado (secretrio)
Centro Poltico Administrativo Bloco III
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-3633 / 3613-3600 / 3613-3621
Fax: (0xx65) 3613-3629
Secretaria de Estado de Agricultura e Assuntos Fundirios
Homero Alves Pereira (secretrio)
220
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-6209 / 6211 / 6240
Fax: (0xx65) 3613-6207
Secretaria de Estado de Comunicao Social
Geraldo Luiz Gonalves Filho (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-4300 / 4321 / 4322
Fax: (0xx65) 3613-4326
Secretaria de Estado da Cultura
Benedito Paulo de Campos (secretrio)
Av. Presidente Getlio Vargas, 247
CEP: 78.005-100
Fone: (0xx65) 3321-5429 / 5427
Fax: (0xx65) 3321-5427
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
Ricardo Luiz Henry (secretrio)
Praa da Repblica, 131
CEP: 78.005-440
Fone: (0xx65) 3624-9060 / 8770 / 8887
Fax: (0xx65) 3613-8770
Secretaria de Estado de Educao
Gabriel Novis Neves (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-6339 / 6338 / 6301
Fax: (0xx65) 3613-6341 / 6383 / 1015
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
Admir Neves Moreira (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-4900 / 4901 / 4903
Fax: (0xx65) 3613-4905
Secretaria de Estado da Fazenda
Waldir Julio Teis (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3617-2000 / 2105 / 2103
Fax: (0xx65) 3644-2613
Secretaria de Estado de Indstria, Comrcio e Minerao
Alexandre Herculano C. De Souza Furlan (secretrio)
Av. Presidente Getlio Vargas, 1077
221
CEP: 78.045-720
Fone: (0xx65) 3613-0084 / 3613-0002 / 3613-0003
Fax: (0xx67) 613-0085
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania
Terezinha de Souza Maggi (secretria)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-5700
Fax: (0xx65) 613-5708
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral
Yenes Jesus de Magalhes (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-3200 / 3232 / 3204
Fax: (0xx65) 3613-3234
Secretaria de Estado de Sade
Luzia das Graas do Prado Leo (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-5310 / 5311 / 5312
Fax: (0xx65) 3613-5318 / 5314
Secretaria de Estado de Justia e Segurana Pblica
Promotor de Justia Clio Wilson de Oliveira (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-5520 / 5502 / 5522
Fax: (0xx65) 3613-5529
Secretaria de Estado de Transporte e Obras
Luiz Antonio Pagot (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-6603 / 6608 / 6600
Fax: (0xx65) 3613-6606
Secretaria Especial de Meio Ambiente
Moacir Pires de Miranda Filho (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.050-970
Fone: (0xx65) 3613-7200 / 7201 / 7203
Fax: (0xx65) 3613-7203
Secretaria Extraordinria de Ao Poltica
Louremberg Ribeiro Nunes Rocha (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
CEP: 78.056-970
222
Fone: (0xx65) 3613-4500 / 4502 / 4506
Fax: (0xx65) 3613-4501
Secretaria Extraordinria de Projetos Estratgicos
Clvis Felcio Vettorato (secretrio)
Centro Poltico Administrativo
Fone: (0xx65) 3613-4125
Secretaria de Estado de Cincia, Tecnologia e Educao Superior
Flvia Maria de Barros Nogueira (secretria)
Centro Poltico Administrativo
Fone: (0xx65) 3613-0103 / 3503
Fax: (0xx65) 3613-3502
rgos Ambientais
- Fundao Estadual do Meio Ambiente - FEMA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
h) Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/mt3.html
Identificam-se trs unidades de relevo no estado. O Planalto mato-grossensse, a
Depresso do alto Xingu e a Depresso do mdio Araguaia.
Planalto mato-grossense
formado por vrias chapadas e chapades cujas altitudes variam de 400 a
800m. Entre as serras mais importantes esto:
Regio norte do estado: Parecis, Formosa, do Norte, Caiabis e Apiacs.
Regio leste do estado: do Roncador
A rea de planalto tambm serve como divisor de guas entre os rios que
seguem em direo ao Paraguai e os rios que compem a bacia amaznica.
As duas depresses a seguir descritas esto localizadas na poro nordeste
deste planalto, estando separadas naturalmente pela Serra do Roncador.
Depresses do alto Xingu e mdio Araguaia
So constitudas por plancies inundveis, as quais com as cheias dos rios locais
so periodicamente alagadas.
Presente neste estado, est uma poro da regio pantaneira denominada,
Pantanal mato-grossense, com altitudes variveis de 100 a 300m e extensa rea
de plancie alagadia.
Uma das paisagens caractersticas do relevo mato-grossense a Chapada dos
Guimares, conhecida mundialmente representando o planalto local.
223
Clima
Predomina o clima tpico da Amaznia, tropical supermido de mono (Aw) na
maior parte do estado, cujas temperaturas so elevadas - temperatura mdia
anual em torno dos 26C.
- O ndice pluviomtrico local atinge por volta dos 2.000mm anuais, sendo
portanto considerado alto. A poro sul do estado marcada pela seca
reduzindo-se de forma gradativa a medida em que avana rumo regio norte.
Hidrografia
Compem a rede fluvial mato-grossense duas grandes bacias: a do rio Amazonas
e a do rio Paraguai.
Bacia do rio Amazonas: tem como principal rio o Araguaia e seus afluentes, rio
das Mortes, Xingu, Juruena, Manuel Teles Pires e Roosevelt.
Bacia do rio Paraguai: origina-se ao norte de Cuiab tendo como seu principal
afluente na regio, o rio Cuiab.
Hidrovias no Brasil
Hidrovias e Portos
Vegetao
Predominam no estado as florestas; prosseguimento da Floresta Amaznica. J a
regio limtrofe do pantanal-matogrossense, podem ser avistadas tipologias
vegetacionais de cerrados e campos.
Para fins de conhecimento e at mesmo estatsticos, Mato Grosso apresenta a
seguinte proporo vegetacional:
47% da rea estadual tomada por florestas;
39% da rea estadual tomada por cerrados;
14% da rea estadual tomada por campos.
Ilha do Bananal
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/mt5.html
Est situada entre os estados de Tocantins e Mato Grosso (1250 longitude e 940
latitude), cabendo sua jurisdio ao estado do Tocantins, com uma rea de
aproximadamente 2 milhes de hectares sendo considerada a maior ilha fluvial do
mundo e um dos mais importantes santurios ecolgicos do Brasil. Foi descoberta
em 26 de julho de 1773 por Jos Pinto Fonseca.
Vivem na ilha aproximadamente 13.700 habitantes, destes 1.700 ndios e os demais,
12.000 brancos. No ano de 1959 o Governo Federal transformou a Ilha em Reserva
Ambiental abrigando vrios animais silvestres e milhares de pssaros nas duas
unidades de conservao existentes. Parque Nacional do Araguaia - situada ao
norte da ilha com 562.316 hectares e Reserva Indgena - ao sul com 1.347.689
hectares.
Seu acesso, em especial na poca das chuvas (outubro a maro), feito pela
localidade de Gurupi (rodovia Belm/Braslia) at Formoso do Araguaia, visto que
224
dois teros da ilha so inundados, de Formoso do Araguaia at Canuan ou Porto
Piau as estradas no so pavimentadas.
Caractersticas fisiogrficas da Ilha do Bananal
Clima: predomina o tropical quente semi-mido com temperaturas mximas de 38
nos meses de agosto a setembro e mnimas de 22C em julho. Duas estaes so
bem marcadas na ilha, o vero (de novembro a abril) meses em que predominam as
chuvas, e o inverno (de maio a outubro) onde marca-se o perodo da seca. A
umidade relativa do ar registrada nas estaes mais definidas gira em torno dos 60%
(julho) e 80% (pocas chuvosas).
Geomorfologia/Solos: formaes do perodo quaternrio formam a extenso da
ilha, compondo assim a unidade geomorfolgica Plancie do Bananal. Por sua vez,
uma grande poro da ilha formada por solos classificados como Latossolos
Hidromrficos Distrficos e licos e outra pequena rea apresenta solos do tipo Glei
Pouco Hmico Distrfico.
Vegetao: tipologias caractersticas da faixa de transio entre Floresta Amaznica
e Cerrado com grande diversidade de espcies destes dois biomas. Espcies
florsticas de destaque so: maaranduba, aoita-cavalo, pau dalho, canjerana, pau-
terra, pequi, piaava, palmeiras e orqudeas da regio.
Hidrografia: dois rios limitam naturalmente a ilha. Na poro noroeste o rio Araguaia
que tm por seus principais afluentes os rios Babilnia, Diamantino, do Peixe,
Caiap, Claro, Vermelho e Crixs Au (margem direita) e rio Manso ou das Mortes
(margem esquerda). A leste a ilha limitada pelo rio Javas, o qual composto dos
seguintes afluentes em sua margem esquerda: Dider, Barreiro, Aruari e Riozinho.
Merece destaque tambm, a fauna da ilha que rene vrias espcies como: ona
pintada, ariranha, suuarana, cervo, cachorro-do-mato-vinagre, boto, preguia,
(mamferos); ararauna, uirapuru, tuiui, gara-moura,colheireiro, urubu-rei (aves);
jacar-tinga, jacar-a, tartaruga-da-amaznia, jibias, surucucu (rpteis); tucunar,
pintado, arraias, poraqu, pirarucu,piranhas (peixes).
Projetos Ambientais
Projeto de Seqestro de Carbono
Este projeto financiado pela Fundao Inglesa AES Barry Foudation, com o
envolvimento de instituies pblicas, federal e estadual, empresa privada e
organizaes no governamentais, funcionando como um novo modelo de gesto
voltado para os programas de conservao e desenvolvimento no Parque Nacional
do Araguaia, Ilha do Bananal, Estado de Tocantins.
Seu desenvolvimento est previsto para um perodo de 25 anos, incluindo os
municpios de Caseara, Lagoa da Confuso, Cristalndia, Pium e Duer.
Ao final do perodo pr-estabelecido, estima-se que sejam sequestradas e
garantidas a preservao e estoque de carbono da ordem de 25.110.000t/C em 25
anos.
225
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&co
nteudo=./estadual/mt4.html
No de hoje que o turismo no territrio mato grossense difundido. Rico em
belezas naturais e com um grande potencial ecoturstico, Mato Grosso apresenta
opes desde a Capital - Cuiab - at as regies mais interioranas.
Dividindo-se o estado, para se ter uma melhor compreenso surgem quatro zonas
fisiogrficas que englobam relevo, vegetao, flora, fauna, ecossistemas e outros
aspectos naturais formando todo um complexo turstico, so eles:
Amaznia
Parte da Amaznia Legal est situada ao norte do Mato Grosso; a infra-estrutura
hoteleira ainda modesta mas os que j existem e os que esto sendo
construdos visam a preservao, desenvolvimento e conscincia ecolgica.
Cidades como Alta Floresta e Aripuan tm investido no turismo. Em Alta
Floresta, por exemplo, foi criado o Complexo de Ecoturismo Reserva do
Cristalino.
So atrativos as corredeiras e cachoeiras, as praias fluviais, as piscinas naturais,
a fauna e flora local.
Para se chegar a esta regio, toma-se como ponto de partida a cidade de Cuiab,
da o acesso feito por avio, carro ou nibus via BR 163.
Araguaia
marcado pela vegetao e pela fauna presentes na faixa de transio entre
Cerrado e Floresta Amaznica.
Dentro do Parque Nacional do Araguaia esto presentes vrios ecossistemas,
todos protegidos e bastante visitados por bilogos, ornitlogos e cientistas das
mais diversas reas a fim de estudar a flora e fauna local; frequentado tambm
por turistas que buscam a contemplao da natureza.
Outra regio mato-grossense que apresenta variadas opes tursticas o Vale
do Araguaia, com um misto de paisagens (savanas, cerrados, campos rupestres,
matas ciliares, cerrado, campo limpo entre outros) e fauna bastante diversificada
que atrai muitos turistas, alguns destes, aventuram-se a navegar pelo rio
Araguaia conhecido pela grande variedade de peixes, porm, outros aspectos
no so conhecidos como as barrancas do rio, seus bancos de areia e praias.
Ainda nesta zona fisiogrfica est situada a maior ilha fluvial do mundo - Ilha do
Bananal. Constituem-se atraes tursticas das cidades ribeirinhas,
principalmente no vero, as praias de: So Flix do Araguaia, Barra do Garas,
Luciara, Santa Terezinha e Cocalinhos.
226
Cerrado
Localiza-se na regio do cerrado mato-grossense, mais precisamente na
Chapada dos Guimares - Cuiab, o Centro Geodsico da Amrica Latina, ponto
turstico local que desperta curiosidade; outros atrativos, desta vez naturais
compem a zona fisiogrfica do cerrado.
Dentre estes naturais esto nascentes, corredeiras, cachoeiras, cavernas, grutas,
trilhas entre outros, o que desperta o esprito aventureiro dos visitantes para a
prtica do ecoturismo e dos ecoesportes.
Para facilitar, a regio foi dividida em quatro corredores de visitao:
- Chapada dos Guimares
O ponto inicial Cuiab, seguindo pela rodovia Emanuel Pinheiro o visitante ir
se deparar, ao longo da estrada com indicaes para a Cachoeira Vu da Noiva,
Cachoeirinha da Independncia, das Andorinhas, do Pulo. Esta mesma estrada
corta o Complexo Turstico da Salgadeira (Cachoeira da Salgadeira e dos
Namorados); mais adiante est o Mirante Porto do Inferno, por fim a pequena
cidade de Chapada dos Guimares.
A Chapada dos Guimares considerada um dos principais divisores de guas
da Amrica Latina.
- Serra de So Vicente - Vale do So Loureno
Rondonpolis, Jaciara, Jucimeira e Primavera do Leste so cidades que fazem
parte deste corredor onde esto situados os principais pontos tursticos a saber:
Rondonpolis: canyons na regio de Ferraz Igreja Jaciara: vrias cachoeiras, a
principal, Cachoeira da Fumaa Jucimeira: fontes termais com propriedades
teraputicas Cachoeiras, stios arqueolgicos, complexos termais, canyons e
vales tem transformado este corredor em plo ecoturstico, onde a canoagem j
tem sido muito praticada.
- Cuiab - Tangar da Serra
O acesso a Tangar pode ser feito pela BR 358 ou por avies de pequeno e
mdio porte. O circuito rico em cachoeiras, grutas, serras, acrescido da fauna e
flora local, fatores que atraem muitos turistas praticantes do turismo de
observao e dos ecoesportes difundindo cada vez mais o ecoturismo na regio.
Um dos ecoesportes que vm sendo muito praticado, principalmente pela
quantidade de cachoeiras existentes o canyoning.
- BR 163 Nobres Trata-se de um corredor rico em grutas, cavernas, poos,
stios arqueolgicos e lugares ainda desconhecidos at mesmo pelos habitantes
da regio.
Mais de 30 cavernas so conhecidas no municpio de Nobres alm de muitos
lagos que apresentam condies perfeitas para a prtica de mergulho; destacam-
se: Lagoa Azul, Lagoa Pai Joo e Poo Dois de Maio.
Visvel a vocao ecoturstica do local, reforado pela implantao de projetos
que exploram de forma consciente os atrativos, como a pesca esportiva na
227
Reserva Yapor ou o mergulho na Caverna do Currupira, regio de Rosrio
Oeste.
Pantanal Norte
Chega-se ao pantanal mato-grossense por avio desembarcando em Vrzea
Grande ou por terra via BR 364 (Cuiab). Vale ressaltar que esta regio a maior
plancie alagvel do mundo sendo controlada pelo regime cclico das guas;
abriga a maior reserva ictiolgica da Amrica do Sul.
Trs corredores de visitao foram criados:
- Santo Antonio de Leverger - Baro de Melgao
Ambos municpios pantaneiros cada qual com caractersticas prprias. O primeiro
conhecido pelo seu carnaval. A travessia de Santo Antonio a Baro de Melgao
feita de barco, ocasio em que se pode observar as antigas usinas de acar e
lcool instaladas nas barrancas do rio Cuiab. J o municpio de Baro de
Melgao considerado o mais pantaneiro de todos; do total de sua rea (no se
sabe quanto ), somente 2,5% formado por terra firme sendo o restante
pantanal. Faz parte deste municpio, o distrito de Mimoso, pequeno povoado
formado as margens da Baa de Chacoror, localidade em que nasceu Candido
Mariano da Silva Rondon (Pai das Comunicaes).
- Pocon - Porto Jofre - Porto Cercado
Pocon: est situado a 100km de Cuiab sendo a cidade mais prxima do
Parque Nacional do Pantanal (135.000 ha); atrai turistas interessados em suas
belezas naturais, em suas festas tradicionais e comidas tpicas.
Porto Jofre: seu acesso feito pela Rodovia Transpantaneira. At chegar ao
municpio, o turista que por l aventurar-se, ir passar por nada mais nada menos
que 126 pontes de madeira; o trajeto pode ser longo, mas compensa pela vista.
Jacars, capivaras, pssaros, peixes, moluscos e aves diversas (tuiui, cabea-
seca, gara, baguari, colhereiro, curicaca, frango d'gua, gavio caramujeiro e
pescador, caro, bigu etc) podem ser observadas no caminho.
Porto Cercado: seguindo pela MT 370 chega-se ao municpio. A paisagem do
trajeto no difere muito da observada na Rodovia Transpantaneira.
Buscou-se registrar aqui um pouco do turismo mato-grossense, lembrando que
muitas outras so as cidades e os atrativos no estado, por exemplo:
228
Pontos Tursticos
Museu de Arte Sacra
Igreja de Nossa Senhora do Bom
Despacho
Museu de Arte e Cultura Popular Museu de Histria Natural e Antropologia
Museu Histrico da Fundao Cultural
de Mato Grosso
Museu do Artesanato
Casa do Arteso Museu Rondon
Casa Artndia Capela de So Benedito
Centro Geodsico da Amrica Latina
Fonte de informaes: Secretaria de Turismo do Mato Grosso(www.sedtur.mt.gov.br)
229
ESTADO DE GOIS
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/go.html
Histria, Povoamento e Colonizao
Aproximadamente quase um sculo aps o Descobrimento do Brasil, colonizadores
portugueses chegaram regio de Gois. Os primeiros a ocupar o local foram
aventureiros bandeirantes vindos de So Paulo em expedies. Dentre estes
exploradores estava Bartolomeu Bueno da Silva - o Anhangera, que vinha em
busca de ouro, o que s encontrou no final do sculo XVII.
Segundo uma lenda local, na tentiva de descobrir com os ndios onde localizavam-se
os veios de ouro, Bartolomeu Bueno da Silva ateou fogo em um prato contendo
aguardente, dizendo fazer o mesmo com os rios e nascentes se os ndios no lhe
mostrassem as minas. Com medo, os ndios o atenderam e passaram a cham-lo
anhangera (feiticeiro para os nativos).
Muitas outras expedies rumaram para Gois em busca das riquezas do subsolo.
O primeiro vilarejo da regio, chamado de Arraial da Barra, foi fundado em 1726 por
Bartolomeu Bueno (filho de Bartolomeu Bueno da Silva). A partir da, os povoados
cresceram e se multiplicaram, isto na segunda metade do sculo XVIII, quando a
explorao do outro estava em alta. A migrao de pecuaristas vindos de So Paulo
(sc. XVI) buscando melhores terras e condies para o gado avolumou a
colonizao e implantou a pecuria na regio.
O atual Estado de Gois, antes pertencente ao Estado de So Paulo, foi separado e
elevado categoria de provncia em 1744. Com a decadncia do ouro nos idos de
1860, a lavoura e a pecuria passaram a ser as principais atividades da regio. O
escoamento da produo foi propiciado pela abertura de estradas e pela navegao
a vapor no final do sculo XIX, o que desenvolveu consideravelmente a provncia.
Sculo XX, construo da capital Goinia, novo impulso econmico mais tarde
complementado com a criao de Braslia (1960).
Localizao e rea Territorial
Localiza-se no corao do planalto central,
limitando-se ao Norte com Tocantins, a Sudeste
com Minas Gerais, a Leste com a Bahia e Minas
Gerais, a Sudoeste com o Mato Grosso do Sul e
a Oeste com o Mato Grosso. Distribudos em 246
municpios, sua populao em 2000 atingiu
aproximadamente 4.994.897 habitantes ocupando
uma superfcie de 341.289,5 km.
Gois conta com 3.400 quilmetros de rodovias federais, 18.610 quilmetros de
rodovias estaduais e 64.690 quilmetros de rodovias municipais perfazendo um total
230
de 86.700 quilmetros de rodovias, das quais somente 7.822 quilmetros so
pavimentados.
Mapa Geral
231
Mapa Rodovirio (CNT)
232
Mapa Hidrogrfico(IBGE)
233
Imagem de Satlite
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
234
Governo e rgos Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/go2.html
Governador: Marconi Ferreira Perillo Junior
Palcio das Esmeraldas
Praa Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 01
CEP: 74.003-010
Fone: (0xx62) 3213-1456 / 1468
Fax: (0xx62) 3213-1479
E-mail: governadormarconi@goias.gov.br
Vice-governador: Alcides Rodrigues Fiho
Av. 1a. Radial esq. c/ Areio
Qd. F, 03 - St. Pedro Ludovico Teixeira
Fone: (0xx62) 3541-7611 / 7608
Fax: (0xx62) 3541-7343
Secretarias de Governo:
Secretaria da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Jos Mrio Schreiner (secretrio)
Av. Anhanguera, 1077 St. Leste Universitrio
CEP: 74.610-010
Fone: (0xx62) 3209-1334 / 1335 / 1336
Fax: (0xx62) 3209-1333 / 1337
E-mail: sagria@international.com.br
Site: www.seagro.go.gov.br
Secretaria da Cidadania e Trabalho
Francisco Gomes de Abreu (secretrio)
Av. Universitria, 609 - St. Leste Universitrio
Fone: (0xx62) 3269-4064 / 4012
Fax: (0xx62) 3202-4740 / 269-4001
Site: www.cidadaniaetrabalho.goias.gov.br
Secretaria de Cincia e Tecnologia
Denise Aparecida Carvalho (secretria)
Av. 1a. Radial esq. c/ Areio
Qd. F, Lt. rea, 3-A - St. Pedro Ludovico Teixeira
CEP: 74.820-900
Fone: (0xx62) 3524-4606
Fax: (0xx62) 3241-0398
Site: www.sectec.go.gov.br
Secretaria de Comrcio Exterior
Ovdio Antonio de Angelis (secretrio)
Praa Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 3 Sala 412
235
CEP: 74.003-010
Fone: (0xx62) 3209-7850
Secretaria para Assuntos Institucionais
Fernando Cunha Junior
Av. 1a. Radial esq. c/ Areio, Qd. F, Lt. rea 3-A
St. Pedro Ludovico Teixeira
CEP: 74.820-900
Fone: (0xx62) 3341-4543 / 4513 / 4571
Secretaria da Educao
Eliana Maria Frana Carneiro (secretria)
Av. Anhanguera, 5105 - Setor Oeste
CEP: 74.043-011
Fone: (0xx62) 3231-6301 / 6302
Fax: (0xx62) 3231-6384
Site: www.educacao.go.gov.br
Secretaria da Fazenda
Giuseppe Vecci (secretrio)
Complexo Fazendrio Meia Ponte
Av. Santos Dumont, 2233 - St. Negro de Lima - Bloco E
CEP: 74.653-040
Fone: (0xx62) 3269-2000 / 2233 / 2028
E-mail: sefazgo@sefaz.go.gov.br
Site: www.sefaz.go.gov.br
Secretaria de Infra-estrutura
Carlos Maranho Gomes de S (secretrio)
Rua 8, 242 - Ed. Torres
CEP: 74.013-030
Fone: (0xx62) 3209-8512 / 8502
Fax: (0xx62) 3209-8514
Site: www.seinfra.goias.gov.br
Secretaria de Indstria e Comrcio
Ridoval Darci Chiareloto (secretrio)
Complexo Fazendrio Meia Ponte
Av. Santos Dumond, 2233 - Bloco B - Setor Negro de Lima
CEP: 74.653-040
Fone: (0xx62) 3565-4296 / 2467 / 4260
Fax: (0xx62) 3565-4294
Secretaria de Habitao e Saneamento
Carlos Antonio Silva (secretrio)
Av. 85, 745 - Ed. Ftima - Setor Sul
CEP: 74.080-010
Fone: (0xx62) 3201-3600 / 3601 / 3602
E-mail: semar@sectec.go.gov.br
236
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hdricos
Paulo Souza Neto (secretrio)
Av. 85, 745 - Ed. Ftima - Setor Sul
CEP: 74.080-010
Fone: (0xx62) 3201-3600
Fax: (0xx62) 3201-3650
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Jos Carlos Siqueira (secretrio)
Praa Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 3 - Centro
CEP: 74.003-010
Fone: (0xx62) 3209-7800
Fax: (0xx62) 3209-7811 / 7812
E-mail: seplan@seplan.go.gov.br
Site: www.seplan.go.gov.br
Secretaria da Sade
Fernando Passos Cupertino de Barros (secretrio)
Rua SC-1, 299 - Parque Santa Cruz
CEP: 74.860-270
Fone: (0xx62) 3201-3821
Fax: (0xx62) 3201-3824
Site: www.saude.go.gov.br
Secretaria da Segurana Pblica e Justia
Jonathas Silva (secretrio)
Av. Anhanguera, 7364 - St. Aerovirio
CEP: 74.543-010
Fone: (0xx62) 3265-1000
Fax: (0xx62) 3265-1002
Site: www.goiascontraocrime.com.br
rgos Ambientais
- Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMAm
- Conselho Estadual dos Recursos Hdricos - CERH
- Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA
Programas e Projeto Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/go3.html
Projeto de Capacitao
O projeto de Capacitao visa o aprimoramento dos servidores da Agncia
Ambiental, buscando melhorar a qualidade dos servios prestados sociedade. O
projeto apresenta, j na sua prpria concepo, atributos que por si s o tornam
extremamente necessrio na busca da modernizao e da excelncia na execuo
237
desses servios: democrtico, capacitador, aglutinador e envolvedor. No ano de
2002, a Agncia promoveu os cursos de Sistemas de Gesto Ambiental em
Empresas, Operao de Aterros Sanitrios, Monitoramento da Poluio da gua e
Anlise e Avaliao de Risco Ambiental.
Visita Agncia
A Agncia Ambiental de Gois trabalha incessantemente buscando formas de
contribuir com a conscientizao da populao goiana. Com este propsito foi
concebido o projeto "Visita Agncia", que pretende mostrar, aos estudantes de
ensino fundamental, mdio e superior de Goinia, as atividades que a Agncia
desenvolve no cumprimento de sua misso, bem como apresentar os resultados de
projetos executados ou em execuo.
O projeto "Visita Agncia" busca promover o contato dos estudantes com a realidade
da execuo das aes ambientais, alm de contribuir com sua instruo terica.
Agncia Sustentvel
O projeto Agncia Sustentvel consiste no desenvolvimento, dentro da Agncia
Ambiental, de aes voltadas para a mudana de hbitos e para a reafirmao de
atitudes positivas, sempre promovendo a sensibilizao coletiva. Tem como foco a
racionalizao e o combate ao desperdcio, visando otimizao da relao entre o
uso de recursos e a economia, sempre considerando o custo ambiental agregado.
O objetivo geral do projeto transformar hbitos internos e adequar estruturalmente
a Agncia Ambiental para que o rgo seja referncia nacional em sustentabilidade
econmica, ambiental, social e cultural, tornando-se exemplo das mesmas atitudes
que cobra da sociedade.
O uso de iluminao natural por um perodo maior, manuteno nos aparelhos de ar
condicionado e outras providncias foram tomadas para diminuir o consumo de
energia. Outras medidas fizeram parte da estratgia visando alcanar o objetivo da
Agncia Sustentvel: aquisio de coletores de lixo para separao de resduos,
preparando-os para a reciclagem, sinalizao para alertar sobre o desperdcio de luz
eltrica, leitura do relgio medidor de energia diariamente, troca de torneiras comuns
por torneiras com medidor de tempo, aproveitamento de papel, manuteno de
veculos, evitando a poluio, entre outras medidas. O projeto estendeu-se at
famlia dos servidores. Foram realizadas duas oficinas: uma de material reciclvel,
na construo de brinquedos e outra mais ampla, mostrando que o papel pode ser
utilizado em diversas atividades, reciclando-o e transformando-o em caixa de
presentes, blocos de anotaes, agendas, etc.
Projeto de Licenciamento Ambiental
O Licenciamento Ambiental est inserido na finalidade maior da Agncia Ambiental,
sendo parte decisiva no Programa de Aes Ambientais Integradas, juntamente com
outros projetos que tm como princpios fundamentais a garantia a todos a um Meio
Ambiente saudvel e ecologicamente equilibrado, como preceitua a Constituio
Federal,.em seu art 225 , o direito de acesso aos bens naturais, o princpio da
preveno e da sustentabilidade. O projeto de Licenciamento Ambiental, apresenta
como objetivo geral o fortalecimento do Sistema de Licenciamento Ambiental, no
Estado de Gois, ampliando o seu espectro, de forma a abranger todas as
238
atividades potencialmente poluidoras e que interferem nos recursos naturais, de uma
forma ou de outra, permitindo, a partir deste ponto, que a Agncia Ambiental
estabelea critrios de restries e aes de monitoramento, considerando a
complexidade das atividades e ecossistemas envolvidos.
Projeto Fiscalizao
A fiscalizao ambiental um componente indispensvel da gesto do meio
ambiente. Neste sentido, a Agncia Ambiental de Gois possui um projeto contnuo
para a execuo e melhoria da fiscalizao. Trabalhando com vistorias nos
processos de licenciamento, atendimento s denncias e operaes especiais, a
fiscalizao garante a obedincia legislao ambiental federal e estadual.
Fonte: Agencia Ambiental
(http://www.agenciaambiental.go.gov.br/projetos/projetos.phtml)
Projeto Monitoramento Ambiental
Nos seus objetivos e metas especficos, o monitoramento ambiental via anlises
ambientais compreende a avaliao da qualidade das guas superficiais, a avaliao
e controle das emisses lquidas, guas residurias industriais e qualidade do ar no
estado de Gois, bem como as interaes advindas destas atividades no
ecossistema ecolgico e de influncia na qualidade de vida e sade da populao
em geral.
Projeto reas Protegidas
A Agncia Ambiental de Gois, atravs da Diretoria de Ecossistemas, responsvel
pela implantao e gesto das Unidades de Conservao no estado. Para isso
possui um projeto de levantamento contnuo de locais ainda preservados que podem
potencialmente se tornar reas protegidas, bem como aes para o aperfeioamento
ininterrupto da administrao e manejo destas reas. Atualmente, existem 07
parques estaduais, 06 reas de Proteo Ambiental (APA's), 01 rea de Relevante
Interesse Ecolgico (ARIE) e 01 Floresta Estadual. Os parques estaduais so os
seguintes:
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas;
Parque Estadual dos Pirineus;
Parque Estadual de Terra Ronca;
Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco;
Parque Estadual Telma Ortegal;
Parque Estadual de Parana;
Parque Estadual do Araguaia.
Em Gois, nos ltimos quatro anos, foram realizadas grandes conquistas na
conservao do meio ambiente. No entanto, duas conquistas se destacam: a
instituio do Sistema Estadual de Unidades de Conservao em Gois, com a Lei
n 14.247, de 29 de julho de 2002, que regulamenta todo o processo de implantao
e gesto da unidade de conservao no estado; e o aumento da rea total das
unidades de conservao em Gois.
239
O total em rea de Unidades de Conservao em Gois aumentou de 1998 at 2002
de 384.997,74 hectares (ha) para 1.699.040,11 hectares (ha), ou seja de cerca de
1% do territrio do estado para 5% do territrio. A rea acrescida nesse perodo foi
de 1.314.042,37 hectares (ha), ou seja, 341,31%.
Projeto Cultura e Ambiente
A Agncia Ambiental de Gois, atravs do Projeto Cultura e Meio Ambiente,
promove e apia diversas atividades culturais que visam refletir a condio humana
como parte integrante de um todo complexo chamado meio ambiente. Algumas
atividades culturais merecem destaque, como o Festival Internacional de Cinema e
Vdeo (Fica), o Musical das guas, e outros.
Projeto Comunicao Ambiental
A informao da populao acerca das aes da Agncia Ambiental e a formao de
uma cultura de preservao do meio ambiente so preocupaes fundamentais da
Agncia Ambiental. Em virtude disto ela desenvolve vrias aes na rea de
comunicao.
E-Cadernos Sustentveis - profissionais da Agncia Ambiental e convidados
partilham suas experincias e idias com o maior nmero de pessoas possvel, por
meio de edio eletrnica.
Comunicadores Ambientais - criar uma nova mentalidade sobre a questo ambiental
nas pessoas que trabalham em comunicao.
Programa de rdio Espao Ambiental - divulga informaes sobre o meio ambiente e
atua na educao ambiental
Jornal eletrnico, ECOS - acessado a partir da pgina da Agncia Ambiental na
Internet.
Resultados:
- 60 comunicadores capacitados em todo o Estado.
- Espao Ambiental veiculado em emissoras de rdio de 42 cidades do interior e
alcana mais de 180 cidades de Gois e estados vizinhos.
- O ECOS enviado a mais de 100 municpios goianos, jornais regionais e inmeras
entidades que trabalham com meio ambiente.
Projeto de Sinalizao
As estradas de Gois ganharam, a partir do ms de agosto do ano de 2001, placas
de sinalizao educativas e indicativas, voltadas rea ambiental. Esta uma
iniciativa da Agncia Ambiental (Projeto Sinalizao), preocupada como sempre,
com a qualidade de nosso meio ambiente, a partir do alto ndice de atropelamento
de animais silvestres nas rodovias goianas e demais processos de degradao. O
Projeto objetivou tambm, sensibilizar a populao sobre os problemas ambientais,
orientar sobre o melhor acesso s Unidades de Conservao do Estado, bem como
promover a sinalizao interna destas Unidades, procurando orientar a populao
sobre os locais disponveis para visitao e as particularidades do local. No total,
foram contempladas 15 rodovias federais e 54 rodovias estaduais. Foram
confeccionados e distribudos ainda, 10.000 folderes educativos referentes aos
240
corredores de migrao faunstica. Estes folderes visavam informar sobre a
localizao dos corredores de migrao, o impacto das rodovias sobre a fauna e
maneiras de se evitar o atropelamento de animais silvestres. Dos 246 municpios do
Estado de Gois foram beneficiados, diretamente, um total de 156, o que representa
aproximadamente, 64 % do total de municpios. Durante o desenvolvimento do
Projeto foram implantadas 308 placas de sinalizao nas rodovias que cortam o
Estado, sendo:
- 156 placas educativas voltadas para a conservao dos recursos naturais, combate
s formas de poluio e preveno a incndios florestais;
- 99 placas educativas referentes aos Corredores de migrao faunstica;
- 53 placas indicativas das Unidades de Conservao;
Projeto Corta-Fogo
O Projeto Corta-fogo, da Agncia Ambiental de Gois, tem como principais objetivos:
a reduo dos focos de incndio no estado; o monitoramento de queimadas e
incndios florestais; a fiscalizao do uso do fogo; a criao de brigadas de
voluntrios e a divulgao das legislaes bsicas sobre o uso do fogo. O projeto
estabelece aes de preveno e combate aos incndios florestais no estado de
Gois, envolvendo diversos rgos pblicos e no-governamentais. No ano de 2001,
a Agncia Ambiental de Gois estruturou uma sala de monitoramento e combate a
incndios florestais, dando suporte para os tcnicos do rgo no acompanhamento
dos focos de calor que atingem Gois, atravs do rastreamento por satlite, em
parceria com o Ibama. O rgo distribuiu kits contra incndios para 11 municpios.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos parceiros da Agncia no projeto
Corta-fogo, na regio da grande Goinia foram combatidos 302 focos de incndios
em vegetao.
No ano de 2002, destaca-se a criao de brigadas e a capacitao contra incndio
em 40 municpios localizados por todo o estado; criao de brigadas, especialmente
situadas prximas aos Parques Estaduais ; reconhecimentos e preveno nas reas
crticas nas Unidades de Conservao; visitas tcnicas nos municpios com maior
ocorrncia de focos de incndios em 2001 (Rio Verde, Jata, Caiapnia, Mineiros,
Cristalina, Luzinia, Padre Bernardo, Mimoso de Gois, Niquelndia, Porangatu, So
Miguel do Araguaia, Montividiu do Norte, Monte Alegre de Gois, So Domingos,
Iaciara, Flores de Gois e Vila Boa); criaço do Comit Estadual de
Preveno e Combate aos Incndios Florestais (Decreto 5.481 de 25 de setembro
de 2001).
Ano Ocorrncias N de Ocorrncias
1998 6969
1999 4425
2000 3840
2001 3443
2002 699
Fonte: Agencia Ambiental
(http://www.agenciaambiental.go.gov.br/projetos/projetos.phtml)
241
Projeto do Lixo
O Projeto do Lixo se divide em "Projeto Gesto Integrada do Lixo" e "Ao Piloto em
Educao Ambiental - Cidade de Gois". O Projeto Gesto Integrada do Lixo tem
como objetivo geral o desenvolvimento de cinco aes bsicas: a criao do sistema
estadual de informao sobre resduos slidos; a criao da bolsa de resduos; a
instrumentalizao dos municpios goianos para a gesto integrada do lixo; a gesto
do lixo no mbito dos rgos estaduais e o desenvolvimento da ao piloto especial
na cidade de Gois, com a implantao do programa de educao ambiental nas
escolas. A Agncia Ambiental, em seu plano estratgico, estabelece diretrizes para a
gesto do lixo.
Uma iniciativa pioneira est sendo realizada no Municpio da Cidade de Gois com
as atividades piloto de Instrumentalizao dos Municpios Goianos para a Gesto do
Lixo. Para a execuo das atividades a Agncia Ambiental elaborou o projeto
'Gesto Integrada dos Resduos Slidos e Desenvolvimento local' com o apoio do
Ministrio do Meio Ambiente e em parceria com a Prefeitura da cidade. A Agncia
Ambiental e o Sebrae se uniram na construo do Centro de Triagem de Materiais
Reciclveis, onde ser criada uma cooperativa pela populao local. Esto sendo
realizadas vrias reunies com autoridades locais e a sociedade civil organizada no
sentido de sensibilizar e mobilizar as pessoas para o projeto. A Prefeitura Municipal
da Cidade de Gois doou o terreno e o Centro ser construdo no Setor Aeroporto,
na Cidade de Gois.
Projeto Meia Ponte
O Projeto Meia Ponte - Rio por Inteiro visa recuperao ambiental da Bacia do
Meia Ponte, principalmente atravs do reflorestamento das reas de preservao
permanente e das aes de educao ambiental, sempre atravs de parcerias que
envolvam as prefeituras, as populaes dos municpios, outros rgos do estado,
organizaes no-governamentais e o setor produtivo.
Projeto Araguaia
O governo do Estado de Gois est atuando de forma mais intensificada no Rio
Araguaia. A estratgia de trabalho est sob a forma de gesto compartilhada, em
parceria com todos os segmentos da sociedade envolvidos: empresrios do turismo,
comerciantes, turistas, fornecedores e municpios (representados pela populao
local e suas respectivas prefeituras). A Agncia Ambiental de Gois vem ao longo
dos anos desenvolvendo subprojetos, que visam no s corrigir e minimizar os
impactos causados pelo turismo, mas principalmente promover o Desenvolvimento
Sustentvel de todo o Vale do Araguaia. Alguns destes subprojetos, como o
Monitoramento da Qualidade da gua, Educao Ambiental, Fiscalizao, Quelnios
e Pirarucu, foram criados e desenvolvidos a partir de gestes anteriores, e que
devido relevante importncia que representam, continuam sendo executados e at
ampliados por este Governo. No ano de 2002, Foram utilizadas 11 equipes de
fiscais, contendo de 03 a 05 agentes, sendo: 07 equipes fixas e 04 postos mveis.
Estas foram distribudas em rotas de 50 Km cada. As equipes fixas se instalaram no
Trevo de Santa F, Lago Serra da Mesa, Bandeirantes, Rio Verdinho, Lus Alves,
Rio Tesouras e Aruan. At o final da temporada foram apreendido 850 Kg de
pescado (maioria pirarucu - Arapaima gigas), material predatrio (redes, tarrafas,
242
bias, arpes,etc), e veculos que transportavam subprodutos florestais.Alm disso,
antes da temporada de Julho, iniciou-se o trabalho de avaliao das guas na Bacia
do rio Araguaia, com o objetivo de garantir a qualidade da gua, bem como as
condies ambientais para a sobrevivncia das espcies da fauna da regio, atravs
do monitoramento da gua, via anlises laboratoriais. Os resultados aferidos eram
emitidos e divulgados diariamente em placas informativas localizadas nas praias dos
municpios onde se encontravam os laboratrios mveis.
Agncia Ambiental (http://www.agenciaambiental.go.gov.br/projetos/projetos.phtml)
Geomorfologia e Relevo
Da rea territorial estadual, 72% apresenta-se com altitudes variveis entre 300 e
900m; marca a regio a presena de extensos planaltos, os quais dividem-se em
quatro tipos e uma plancie, assim, o estado de Gois compreende cinco unidades
de relevo.
Planalto Cristalino
Est presente na maior parte do estado com suas maiores altitudes na poro
sudeste (Goinia, Anpolis e proximidade do Distrito Federal) chegando aos 1.380m
na Serra dos Pirineus; vrios rios cortam o planalto apresentando plats extensos
com chapadas (estendem-se entre rios pequenos) e chapades (estendem-se entre
rios maiores). Uma destas chapadas, ou chapado, devidos as suas propores,
pois prolonga-se at o extremo norte do estado e recebe vrias denominaes como
serra do Estrondo, serra Dourada, serra dos Javas, serra dos Xavantes e a mais
conhecida denominao, serra das Cordilheiras.
Planalto Sedimentar da Bacia do Meio Norte
Tem sua ocorrncia na divisa com o estado do Maranho; constitui-se de um
conjunto de chapadas cujas altitudes mdias atingem 600m.
Planalto Sedimentar do So Francisco
Popularmente conhecido como Espigo Mestre, est situado na divisa com a Bahia
e Minas Gerais apresentando altitude mdia de 800m.
Planalto Sedimentar da Bacia do Paran
Elevao presente na poro sudoeste do estado com altitudes variveis de mil
metros decrescendo para 500m na Serra do Capara, fronteira sul de Gois com
Mato Grosso do Sul.
Plancie Sedimentar do Mdio Araguaia
Regio sujeita a freqentes inundaes, localizada entre Gois e Mato Grosso em
sua poro oeste.
243
Clima
A tipologia climtica tropical se faz presente na maior parte, do estado, apresentando
invernos secos e veres chuvosos. As temperaturas variam de regio para regio;
no sul giram em torno dos 20C aumentando ao norte para 25C. O ndice de chuvas
segue o regime das temperaturas. A oeste do estado o ndice atinge 1.800mm
anuais diminuindo no sentido leste para 1.500mm/ano.
Em parte do estado, mais precisamente no planalto de Anpolis e Goinia ocorre o
clima tropical de altitude com temperaturas mdias anuais baixas, porm, a
precipitao ocorre da mesma forma que no restante do estado.
Hidrografia
A rede hidrogrfica goiana formada pelas bacias do Amazonas, Paran e So
Francisco.
-Bacia do Amazonas: composta por dois rios goianos de importncia, Tocantins e
Araguaia.
Rio Tocantins - nasce na Serra Dourada (regio central) segue seu curso
desaguando no rio Amazonas (em territrio paraense), ao todo so 2.855 km de
curso. Afluentes: margem direita: rios Maranho, Tocantinzinho, Manuel Alves, do
Sono e das Almas margem esquerda: rios Araguaia, Santa Teresa
Rio Araguaia - nasce ao sul de Gois, percorre todo o estado e, cerca de 500 km
antes da fronteira com o Par divide-se em dois braos formando a Ilha do Bananal
(maior ilha fluvial do mundo com 20 km), percorre ao todo 2.627 km. Afluentes: rios
Claro, Vermelho, Crix- A e Jacar.
- Bacia do Paran: tem como rio mais importante o Paranaba, este nasce em
Minas Gerais formando fronteira entre os estados. Todos os rios que seguem na
direo sul so afluentes do Paranaba, merecendo destaque os rios So Marcos,
Jacar, Meia Ponte, Corrente, Corumb e Apor (divisa com Mato Grosso do Sul).
- Bacia do So Francisco: apresenta o rio Preto como seu principal afluente,
originando-se em Formosa-GO.
Vegetao
A vegetao goiana caracteriza-se pela presena do cerrado na maior parte do
territrio. As matas so pouco desenvolvidas e bastante cobiadas, pela fertilidade
do solo que se apresenta propcio para a agricultura.
Na poro centro-norte do estado, conhecida como Mato Grosso de Gois, se
encontra a principal mancha florestal, abrigando espcies como o jatob, a palmeira
guariroba, a copaba ou leo vermelho, o jacarand e a canela.
Manchas florestais nos vales dos rios Paranaba (sul), Tocantins (leste) e Araguaia
(oeste) ainda existem, porm, boa parte especialmente no vale do rio Araguaia
passa por transio entre cerrado e cerrado, onde ocorrem espcies, por exemplo:
angico, aroeira, sucupira-vermelha. Em reas que predominam os cerrados
desenvolve-se: lixeira, lobeira, pau-terra, pequi, pau-de-colher-de-vaqueiro, pau-de-
santo, barbatimo, quineira-branca e mangabeira.
244
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&co
nteudo=./estadual/go4.html
Apresenta um grande potencial turstico; as vrias cidades histricas, as estncias
hidrominerais alm de outros atrativos movimentam o estado. Vrios tipos de
turismo podem ser identificados nos mais diversos municpios goianos.
Uma das cidades mais visitadas Caldas Novas. Turistas de vrios pontos do Brasil
seguem para l em busca das fontes de guas termais, alm deste, outros
municpios figuram como pontos tursticos.
Tipo de Turismo Caracterizao Locais para a prtica
Lazer Voltado ao conhecimento de novos
locais, paisagens e contemplao
Todos os municpios
Eventos Rene vrios profissionais para
exposies, lanamentos e/ou
discusses de temas relevantes
Goinia, Rio Quente e Caldas
Novas
guas Termais Destina-se as estncias
hidrominerais visando a sade ou a
recreao
Caldas Novas, Rio Quente e
Itaj
Desportivo Atrai participantes e pblico em
geral para eventos esportivos
Todos os municpios
Religioso Visitas a igrejas, templos,
santurios etc
Trindade, Pirenpolis e
Cidade de Gois
Cultural Profissionais ligados a cultura
(professores, pesquisadores,
arquelogos) e pblico em geral
interessados nos aspectos culturais
da regio.
Cidade de Gois, Pirenpolis,
Corumb de Gois,
Serranpolis, Pilar de Gois e
Silvnia.
Ecolgico Contemplao da natureza Alto Paraso, Formosa,
Caiapnia, Cidade de Gois,
Parana, Serranpolis, So
Domingos, Goinia, Mineiros,
Chapado do Cu, Caldas
Novas e Pirenpolis.
Aventura Ideal para quem gosta de praticar
esportes radicais com vrias
opes para aventurar-se.
Parana, Alto Paraso,
Caiaponia, Piranhas, So
Domingos, Posse, Mineiros,
Chapado do Cu e Formosa
Gastronmico Pratos tradicionais da regio
aguam o paladar dos turistas que
por l passam como o arroz com
pequi, peixe na telha entre outros.
Anpolis, Alexnia,
Pirenpolis e Luzinia
Melhor Idade Atividades e locais tursticos para
todos as idades, aventura,
paisagens e locais mais tranquilos
podem ser encontrados em Gois.
Caldas Novas, Rio Quente e
Itaj
Rural Aproxima o visitante do meio e
convvio rural; no programa inclui-
se atividades como: andar a cavalo,
ordenhar vacas, passear de
carroa, tomar banho de cachoeira
etc.
Anpolis, Alexnia,
Pirenpolis, Cidade de Gois
e Corumb de Gois
245
Tipo de Turismo Caracterizao Locais para a prtica
Nutico Utiliza as vias navegveis do
estado.
Buriti Alegre, So Simo,
Trs Ranchos, Britnia,
Uruau, Minau, Cachoeira
Dourada
Pesca Permitida nos perodos em que no
ocorrem a piracema e o defeso.
Aragaras, Bandeirantes,
Luis Alves, Arauan e
Britnia
Constituem-se plos ecotursticos goianos Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, o municpio de Pirenpolis e o Parque Nacional das Emas.
Chapada dos Veadeiros: apresenta atividades no parque e no seu entorno como
nos municpios de So Domingos e Posse onde desenvolve-se a espeleologia.
Pirenpolis: municpio inserido na Serra dos Pirineus, tm como atrativos as
cachoeiras e serras locais, bem como, a prpria cidade histrica.
Parque das Emas: desenvolve-se o ecoturismo na regio do parque e em seu
entorno, como em Costa Rica prximo do Mato Grosso do Sul onde predominam as
chapadas e nascentes de rios; em Mineiros, as cachoeiras e em Serranpolis as
pinturas rupestres e os rios de corredeiras rpidas.
Pontos Tursticos:
Naturais
Parque Estadual Serra de Caldas Novas Parque Estadual de Terra Ronca
Reserva Estadual Biolgica de Parana Reserva Estadual Biolgica Lagoa
Grande
Municpio
Alto Paraiso Anpolis
Anhanguera Anicuns
Aragaras Aruan
Britnia Buriti Alegre
Cachoeira Dourada Caiapnia
Caldas Novas Chapado do Cu
Cocalzinho de Gois Corumb de Gois
Cristalina Formosa
Cidade de Gois Itaj
Itumbiara Minau
Mineiros Parana
Pilar de Gois Pirenpolis
Rio Quente So Domingos
So Miguel do Araguaia So Simo
Serranpolis Trs Ranchos
Trindade Uruau
246
REGIO SUDESTE
ESPRITO SANTO
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/es.html
Histria, Povoamento e Colonizao
O fidalgo portugus Vasco Fernandes Coutinho aportou em terras a ele doadas para
a criao de uma capitania no dia 23 de maio de 1535, domingo do Esprito Santo,
originando assim o nome do Estado.
Os primeiros habitantes da regio, os ndios, resistiram a colonizao buscando
refgio nas florestas e iniciando uma luta contra os colonizadores portugueses que
durou at a metade do sculo seguinte. Outras lutas ocorreram entre os portugueses
e os piratas franceses, holandeses e ingleses.
No sculo XVII, o interior iniciou seu povoamento graas a criao dos primeiros
engenhos de acar levando tambm a um desenvolvimento agrcola e comercial. A
economia entrou em estagnao no sculo XVIII, fato que reintegrou a capitania
Coroa (antes a capitania era subordinada a Bahia). Com autonomia plena a partir de
1810 sua administrao ficou a cargo de um governador.
Em 1823 comearam a chegar ao Esprito Santo imigrantes suios, alemes,
holandeses e aorianos alavancando a economia local. Com o fim da escravido,
muitos fazendeiros ficaram arruinados, porm, a imigrao principalmente de
italianos (iniciada em 1892 at 1896) movimentou a cultura do caf gerando
desenvolvimento.
O termo capixaba que na lngua tupi quer dizer terra boa para a lavoura reforou
a origem do nome e, definiu a vocao agrcola do Estado.
Localizao e rea Territorial
Integra a Regio Sudeste, mais precisamente na
poro oriental do Brasil, tendo como rea territorial
estadual 46.184,1 km. Limita-se com: Bahia (Norte),
Oceano Atlntico (Leste), Rio de Janeiro (Sul) e
Minas Gerais (oeste).
Apresenta duas regies naturais, o litoral com 400
quilmetros e planalto.Dados do ltimo Censo (2000), apontam uma populao de
aproximadamente 3.093.171 habitantes, os quais esto distribudos entre os 78
municpios existentes, sendo os mais populosos Vitria (capital), Vila Velha,
Cariacica, Serra e Cachoeiro de Itapemirim.
247
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/es1.html
248
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/es1.html
249
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hes.html
250
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/ies.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
251
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/es2.html
Governo
Governador: Paulo Cesar Hartung Gomes
Vice-governador: Wellington Coimbra
Praa Joo Clmaco, s/n. - Palcio Anchieta
CEP: 29.015-110
Fone: (0xx27) 3321-3600
Fax: (0xx27) 3223-0815
Secretaria de Estado de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPLOG
Estanislau Kostka Stein (secretrio)
Avenida Governador Bley, 236 - Ed. Fbio Ruschi - 4. Andar
CEP: 29.010-150
Fone: (0xx27) 3381-3248
Fax: (0xx27) 3381-3250
E-mail: secretario@searp.es.gov.br
Site: www.searp.es.gov.br
Secretaria de Estado da Cultura e Esportes - SECES
Neusa Maria Nunes (secretria)
Avenida Vitria, 320
CEP: 29.010-580
Fone: (0xx27) 3233-3555
Fax: (0xx27) 3233-3555
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA
Jos Tefilo Oliveira (secretrio)
Avenida Jernimo Monteiro, 96
CEP: 29.010-002
Fone: (0xx27) 3331-1350
Fax: (0xx27) 3331-1282
E-mail: sefa@es.gov.br
Site: www.sefa.es.gov.br
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEAMA
Luiz Fernandes Shiettno (secretrio)
BR 262, Km 0 - Porto Velho - Cariacica - ES
CEP: 29.140-500
Fone: (0xx27) 3136-3438 / 3443
Fax: (0xx27) 3136-3444
E-mail: presidente@iema.es.gov.br
Site: www.seama.es.gov.br
Secretaria de Estado da Justia - SEJUS
Joo Carlos Batista (secretrio)
Avenida Governador Bley, 236 - Ed. Fbio Ruschi - 9. Andar
252
CEP: 29.010-150
Fone: (0xx27) 3382-1819
Fax: (0xx27) 3382-1821
Site: www.sejus.es.gov.br
Secretaria de Estado da Reforma e Desburocratizao - SERED
Edinaldo Loureiro Ferraz (secretrio)
Avenida Governador Bley, 236 - Ed. Fbio Ruschi - 4. Andar
CEP: 29.010-150
Fone: (0xx27) 3381-3200
Fax: (0xx27) 3381-3250
Secretaria de Estado da Sade - SESA
Carlos Jos Cardoso (secretrio)
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 Bento Ferreira
CEP: 29.052-121
Fone: (0xx27) 3137-2300
Fax: (0xx27) 3132-2380
E-mail: apoiogab@saude.es.gov.br
Site: www.saude.es.gov.br
Secretaria de Estado da Segurana Pblica - SESP
Edson Ribeiro do Carmo (secretrio)
Avenida Governador Bley, 236 - 7. Andar
CEP: 29.010-150
Fone: (0xx27) 3322-1021
Fax: (0xx27) 3322-1053
E-mail: gabinete@sesp.es.gov.br
Secretaria de Estado do Governo - SEGOV
Danilo Edson Duarte (secretrio)
Praa Joo Clmaco, s/n - Palcio Anchieta
CEP: 29.015-110
Fone: (0xx27) 3321-3603
Fax: (0xx27) 3223--0815
E-mail: gae@seg.es.gov.br
Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN
Pedro de Oliveira (secretrio)
Praa Joo Clmaco, s/n - Palcio Anchieta
CEP: 29.015-110
Fone: (0xx27) 3321-3800
Fax: (0xx27) 3322-0483
E-mail: gabinete@seplan.es.gov.br
Site: www.seplan.es.gov.br
Secretaria de Estado do Trabalho e Ao Social - SETAS
Maria Terezinha Silva de Gianordoli (secretria)
Avenida Governador Bley, 236 - Ed. Fbio Ruschi - 10 Andar
CEP: 29.010-150
Fone: (0xx27) 3222-0334
253
Fax: (0xx27) 3223-1811
E-mail: setasgsaa@ig.com.br
Secretaria de Estado do Turismo e Representao Institucional - SETUR
Jlio Csar Carmo Bueno (respondendo)
Avenida Desembargador Santos Neves, 1267 - Praia do Canto
CEP: 29.055-721
Fone/Fax: (0xx27) 3382-6900
E-mail: setur@setur.es.gov.br
Site: www.setur.es.gov.br
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAG
Ricardo Rezende Ferrao (secretrio)
Rua Raimundo Nonato, 116 - Forte So Joo
CEP: 29.010-540
Fone: (0xx27) 3132-1411
Fax: (0xx27) 3132-1431
Secretaria de Estado da Educao - SEDU
Jos Eugnio Vieira (secret / rio)
Avenida Csar Hilal, 1111 - Praia do Su
CEP: 29.052-231
Fone: (0xx27) 3137-3641
Fax: (0xx27) 3137-2380
E-mail: secretario@sedu.es.gov.br
Site: www.sedu.es.gov.br
Secretaria de Estado de Desenvolvimento IE e Transportes - SEDIT
Jorge Hlio Leal (secretrio)
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2355 - Bento Ferreira
CEP: 29.052-121
Fone: (0xx27) 3325-4540
Fax: (0xx27)3324-4001
E-mail: setr@es.gov.br
Site: www.setr.es.gov.br
rgos Ambientais
- Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
- Instituto de Terras, Cartografia e Florestas ITCF
- Secretaria de Estado da Sade
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentvel - SEDESU
254
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/es5.html
Programa Estadual de Gesto das guas - PEGA
Visando a implementao da Poltica Estadual de Recursos Hdricos, foi elaborado o
Programa Estadual de Gesto das guas - PEGA, que constitui-se de oito aes
gerenciais, que so:
Elaborao do Plano Estadual de Recursos Hdricos;
Melhoria da Qualidade da gua;
Motivao e Orientao para Implantao dos Comits de Bacias Hidrogrficas;
Ordenamento do Uso da gua;
Produo e Fornecimento de Informaes sobre gua;
Ampliao da Capacidade de Reserva Hdrica;
Implantao de um Centro de Informaes sobre Recursos Hdricos;
Fortalecimento Institucional e Articulao Interinstituicional.
Nesse sentido, foi criada em dezembro de 1998 a Lei n 5.818, que institui a Poltica
Estadual de Recursos Hdricos, apresentando-se como importante ferramenta legal
ao processo de aes efetivas quanto utilizao racional da gua, permitindo a
todos o acesso a esse recursos vital.
A Coordenao de Gesto Integrada de Recursos Hdricos - COGIRH, atua no
planejamento e desenvolvimento de aes que visam assegurar padres de
qualidade adequada aos respectivos usos e melhor aproveitamento scio-econmico
da gua, garantindo a disponibilidade hdrica necessria atual e s futuras
geraes.
Atravs destas aes, consideradas fundamentais para a realizao do Programa,
busca-se promover a sustentabilidade hdrica para o desenvolvimento social,
econmico e ambiental.
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hdricos
(http://www.seama.es.gov.br/scripts/sea1000.asp)
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/es3.html
Baixada litornea e serra so as duas unidades representativas do relevo capixaba,
a seguir caracterizadas.
255
Baixada Litornea
Segue por toda a costa litornea, desde a fronteira com a Bahia at o Rio de
Janeiro. Apresenta largura varivel, sendo mais estreita ao sul e, ao norte alargando-
se a partir de Vitria. Verifica-se altitude mdia de 40 a 50m englobando 40% do
territrio.
Serra
Com altitude mdia na casa dos 700m, ocupa o interior do Estado. Cortada por
vrios rios, a zona montanhosa apresenta a formao de vales profundos; no alto
destes vales originam-se serras, como a do Capara, e picos da Bandeira e do
Calado.
A diminuio das altitudes ocorre ao norte do rio Doce, onde h a formao de
pequenas montanhas (pontes) erroneamente chamados de serras. Exemplicando:
Ponto do Pancas e Ponto do Cunha.
Clima
O Estado do Esprito Santo caracterizado por duas tipologias climticas variveis
de acordo com o relevo local.
Na Baixada Litornea predomina o clima tropical (Aw'), com ocorrncias de chuvas
no vero, 1.250mm anuais na base da serra e em Vitria; no restante da baixada, a
mdia pluviomtrica anual de 1.000mm. A temperatura mdia anual atinge 22C
podendo ultrapassar.
A regio serrana apresenta clima tropical de altitude (Cwb), com temperaturas em
torno dos 19C, diminuindo conforme aumentam as altitudes. O ndice pluviomtrico
chega a 1.700mm/ano.
Hidrografia
O Estado do Esprito Santo tem como principal rio o Doce; nasce em Minas Gerais e
segue na direo do Atlntico onde desgua. Ao todo so 977 quilmetros de curso
dividindo o estado quase que ao meio.
Vrias lagoas so formadas na regio do delta do rio Doce, uma das mais
importantes a de Juparan com 30 km de comprimento e cerca de 3 a 4 km de
largura.
Outros rios de relevante importncia para a regio so: o Itapemirim, o Jacu, o
Itana, o Mucuri e o So Mateus.
Vegetao
Inicialmente prevaleciam as reas de floresta tropical (Ombrfila Densa), devastada
quase que por completo na poro sul do estado. Isto ocorreu devido a busca de
solos frteis agricultura, resultando na extrao de lenha e madeira de lei, o que
veio a originar os campos de cultura, as pastagens artificiais e as capoeiras.
reas da poro norte do Esprito Santo, que aos poucos vo sendo ocupadas ainda
guardam remanescentes florestais. Na Serra do Capara por exemplo - revestida
256
pela Mata Atlntica no passado, hoje encontra-se devastada, apresentando apenas
vegetao campestre a partir de 1000 metros de altitude.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/es4.html
Seu posicionamento geogrfico favorece e muito o turismo local; regies litorneas e
serras compem o estado lembrando um pouco seus vizinhos (Minas Gerais e Rio
de Janeiro). Suas florestas abrigam exemplares de colibris, beija-flores e flores como
as orqudeas e as bromlias, encantando o local e seus visitantes.
A seguir, relata-se um pouco de cada regio (litornea, serrana) alm de alguns
municpios voltados ao turismo social e ecoturismo.
Regio Litornea
O clima tropical quente e mido predominante no estado propicia o lazer no litoral
durante o ano inteiro; so 416 quilmetros de praias divididas em poro sul, onde
as praias so recortadas com guas azuis e transparentes, ao norte a extenso
maior, as guas nesta poro litornea so mornas e em mar aberto.
Vitria, a capital, e outros municpios capixabas abrigam praias muito visitadas.
Vitria: com 81km a ilha apresenta vrias praias. Camburi a mais popular sendo
praticada a pesca ocenica e submarina, competies de surf, iatismo, motonutica
e windsurf.
Guarapari: considerado plo turstico do estado, ao todo so 17 praias sendo
reconhecidas as propriedades teraputicas das areias monazticas ali encontradas.
Anchieta: localiza-se ao sul de Guarapari com guas claras e belas praias como
Ubu, Catelhanos e Iriri; pratica-se pesca ocenica alm de se conhecer um pouco da
histria local no Museu de Anchieta e na Igreja de Nossa Senhora da Assuno.
Pima: abriga parques naturais onde so preservadas espcies da flora e fauna
marinha. Chamam a ateno o artesanato de conchas e as ilhas do Gamb, do
Meio, dos Franceses e dos Cabritos, todas tombadas para preservao ambiental
alm do Monte Agh com 300 metros de altura.
Itapemirim: est no extremo sul do estado. Maratazes, Itaoca e Itaipava so as
praias mais procuradas caracterizado-se por apresentar mar aberto e guas
escuras.
Serra: destacam-se os balnerios de Jacarape, Manguinhos e Nova Almeida
conhecida por sua arquitetura colonial.
A poro norte do litoral capixaba marcada por algumas pequenas diferenas. Em
Aracruz encontram-se recifes e corais marinhos, j em Linhares, na praia da
Regncia ocorre o Projeto Tamar ali tambm est a segunda maior lagoa do pas
(volume de gua), Lagoa Juparan. Ainda no litoral norte podem ser visitadas. So
Mateus - porto e praia do Guriri; o balnerio de Conceio da Barra - praias, folclore
local, dunas e o Parque Estadual de Itaunas.
257
Regio Serrana
Aproximadamente 77% da superfcie estadual tomada pelas serras. Cachoeiras,
formaes rochosas, resqucios de Floresta Atlntica, paisagens enriquecidas por
orqudeas, bromlias, beija-flores e arquitetura colonial alem, italiana, suia entre
outras constituem-se atrativos locais.
Por se tratar de uma regio mais interiorana, seus habitantes dedicam-se ao fabrico
de licores, vinhos e queijos caseiros.
Alguns municpios da regio serrana merecem destaque como:
Domingos Martins: conta com hotis; ressalta-se como ponto turstico local, a
Pedra Azul.
Santa Tereza: abriga o Museu de Biologia Mello Leito e um santurio ecolgico
fundado por Augusto Ruschi onde vivem 33 espcies de beija-flores, prximo de 600
mil aves.
Monumentos, picos, cachoeiras, reas de preservao, montanhas alm de outros
pontos compem o turismo de pelo menos 11 municpios que buscam um
fortalecimento econmico no ecoturismo. Dentre as cidades que formam o circuito
ecoturstico capixaba esto: Afonso Cludio, Castelo, Conceio do Castelo,
Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria do Jetib,
Santa Teresa, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Viana.
Alguns locais propcios ao ecoturismo.
Reserva Ecolgica Espera Mar
Local: municpio de Vila Velha
Estrutura: trilhas para caminhada interligando-se ao morro do Penedo e estrutura
para encontros ambientais.
Morro do Moreno
Local: Baia de Vitria/Vila Velha
Estrutura: reas de preservao, rampa para salto de parapente e asa delta, trilha de
aceso ao topo do morro.
Reserva de Jacarenema
Local: Barra do Jucu (1 milho de m).
Estrutura: trata-se de rea de restinga as margens do rio Jucu propcio canoagem.
Tambm pratica-se surf, bodyboard e canoagem na praia e no morro da concha.
Balnerio de Ponta da Fruta
Local: vila Anau
Estrutura: espao voltado para o agroturismo
258
Outro aspecto turstico interessante que merece meno diz respeito a cultura
regional. Folclore e costumes tpicos esto presentes em Conceio da Barra, por
exemplo, com os reisados, o ticumbi e o alardo, unindo-se a isto a culinria dos
antepassados alemes, italianos e pomeranos.
Atrativos tursticos para todos os gostos podem ser visitados no Esprito Santo, de
norte a sul, de leste a oeste, do litoral as serras existem opes.
Montanhas
Cordilheira do Valentim
Gruta de Nossa Senhora
de Lurdes
Mestre Alvaro
Mirante da Torre de
Televiso
Mirante Niko Andreo
Montanha do
Goiapabo-au
259
MINAS GERAIS
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/mg.html#localizacao
Histria, Povoamento e Colonizao
Seguindo em direo ao interior a procura de metais e pedras preciosas grupos de
bandeirantes paulistas ocuparam a regio no sculo XVI, mais tarde chamada Minas
Gerais. Os primeiros povoados surgiram nas montanhas no final do sculo XVII e
incio do XVIII, bem como, a descoberta de novas minas.
Hoje Belo Horizonte, porm, em 1693 uma grande quantidade de ouro foi
encontrada prximo ao local sendo causa de muitas disputas e confrontos
sangrentos, entre os muitos a Guerra dos Emboabas. A batalha ocorreu em 1708,
entre paulistas, portugueses (emboabas) e mineradores (sertanejos).
Visando uma melhor administrao, criou-se a capitania de So Paulo e Minas de
Ouro em 1709. Com a separao de Minas e So Paulo em 1720, a primeira tornou-
se capitania tendo como sede a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. O nome
Minas Gerais originou-se devido a enorme quantidade de riquezas minerais ali
existentes.
Localizao e rea Territorial
Com 588.383,6 km de rea total, Minas Gerais
est localizada na regio Sudeste do Pas,
poro noroeste. Sua rea corresponde a 7% do
territrio nacional limitando-se: ao Sul e Sudeste
- Rio de Janeiro, a Norte e Nordeste Bahia, a
Leste Esprito Santo, ao Sul e Sudoeste So
Paulo, a Oeste e Noroeste Gois e a Oeste
Mato Grosso do Sul.
Divide-se, conforme os aspectos geogrficos e
econmicos, em regies distintas assim distribudas:
Regies Municpios
Zona da Mata
Juiz de Fora
Barbacena
Leopoldina
Tringulo Mineiro
Uberaba
Uberlndia
Arax
Regio Auroferrfera
Ouro Preto
So Joo Del Rey
Sabar
Mariana
Planalto do Alto Rio Grande Poos de Caldas
260
Caxambu
So Loureno
Vale do Rio Doce Governador Valadares
Vale do Jequitinhonha Montes Claros
Composto por 853 municpios, abriga uma populao de 17.835.488 habitantes.
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/mg1.html
261
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rmg.html
262
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hmg.html
263
rgos, Programas e Projetos Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/mg3.html
rgos Ambientais
- Fundao Estadual de Meio Ambiente - FEAM
Ilmar Bastos Santos (presidente)
Av. Prudente de Morais, 1671 - 3 andar
CEP: 30.380-000
Fone: (0xx31) 3298-6590
Fax: 3298-6570
E-mail: gabinete@semad.mg.gov.br
- Instituto Estadual de Florestas - IEF
Humberto Candeias Cavalcanti (diretor)
Rua Paracatu, 304 - sala 1102
CEP: 30.180-090
Fone: (0xx31) 3295-4887
Fax: (0xx31) 3295-7748
E-mail: dg@ief.mg.gov.br
- Instituto Mineiro de Gesto de guas
Presidente: Paulo Teodoro de Carvalho
- Conselho Estadual de Poltica Ambiental
- Conselho Estadual de Recursos Hdricos
- Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais
Projetos e Programas Ambientais
Estao Ambiental de Peti
A Estao Ambiental de Peti foi inaugurada em 22 de setembro de 1983. Possui
605,56 ha de rea terrestre e 677,60 ha de reservatrio.
banhada pelo rio Santa Brbara (bacia do rio Doce, sub-bacia do rio Piracicaba) e
conta, ainda, dentro de seus limites, com quatro crregos.
A estao desenvolve estudos de conhecimento da ecologia terrestre e aqutica,
monitoramento e manejo de fauna e flora, pesquisas de reproduo e reintroduo
de espcies autctones e programas de educao ambiental.
Um exemplo desses estudos acompanhamento e monitoramento da ave smbolo
da estao, o Pav (Pyroderus scutatus), que est ameaada de extino.
Pesquisas no sentido de melhor compreender sua biologia, seu comportamento e
sua reproduo tm sido desenvolvidas.
264
Peti configura-se como reserva piloto, onde se pretende o desenvolvimento de
tecnologia aplicada criao, estruturao e manejo de reas protegidas, alm de
pesquisas relacionadas a reas de interesse das universidades e centros de
pesquisas, a programas de educao ambiental e formao de tcnicos ligados
rea.
Como fruto dos trabalhos desenvolvidos em Peti, a Cemig pretende implantar, a
mdio prazo, outras estaes ambientais nas usinas hidreltricas de Rio de Pedras e
Piau. Essas novas instalaes devero passar pelas mesmas etapas realizadas em
Peti e contaro com o apoio e participao dos tcnicos e estudantes das
Universidades Federais de Minas Gerais, Viosa, Uberlndia e da Pontifcia
Universidade Catlica de Minas Gerais.
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel.
Projeto de Coleta Seletiva do Papel
A idia de realizar a Coleta Seletiva e reutilizar os materiais considerados como lixo
tem despertado o interesse da sociedade e assumido nos ltimos tempos
propores significativas nos centros urbanos, j existindo inclusive um verdadeiro
ciclo de produo visando ao aproveitamento do material coletado seletivamente.
A FEAM, como um dos rgos executivos da Poltica Ambiental em Minas Gerais e a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel - SEMAD,
responsvel pela implantao do modelo auto-sustentvel de produo e gerador de
mudanas comportamentais para as comunidades mineiras visando melhoria da
qualidade de vida, ao mesmo tempo, dividindo o espao fsico do prdio com esta
Fundao, devem integrar esforos junto a sociedade na promoo, discusso e
divulgao do assunto.
Sabe-se que a conscincia ambiental se manifesta atravs das atitudes, posturas e
aes do ser humano em prol do meio ambiente e a disseminao dessa
conscincia ocorre principalmente pelo exemplo.
com esse sentido que se implementou a Coleta Seletiva de Lixo na
FEAM/SEMAD, fundamentada em experincias e exemplos bem sucedidos
realizados pela Fundao Brasileira para Conservao da Natureza , Coca-Cola,
Brahma, SLU e pela SMMA de BH, entre outros.
Para a implantao do Projeto no prdio da FEAM/SEMAD foi necessria a
realizao de adaptaes realidade cultural, funcionamento e instalaes destes
rgos, o que foi levantado atravs do Estudo de Percepo aplicado como parte da
metodologia.
Objetivos Gerais
- Implantar Programa Interno de Coleta Seletiva do Papel, visando reduo e
reutilizao do papel no ambiente de trabalho;
- Selecionar material (papel) destinado reciclagem.
265
Objetivos Especficos
- Realizar Estudo de Percepo interno, atravs de questionrio, visando a levantar
nveis de receptividade e expectativas com relao ao Projeto junto aos funcionrios
da FEAM e da SEMAD, disposio para mudanas, formas de participao, entre
outros dados relevantes;
- Reduzir o volume de lixo gerado nas instalaes da FEAM e SEMAD;
- Participar atravs da reutilizao, da reduo e da reciclagem de papel na
economia dos recursos naturais e energticos;
- Contribuir para melhoria das condies de organizao e da produtividade no
trabalho, atravs da eliminao de papis guardados em arquivos, mesas e gavetas;
- Reforar a participao em equipe atravs de atividades comuns;
- Possibilitar auferir receitas, de forma a apoiar atividades assistenciais internas ou
promover atividades culturais e festivas;
- Disseminar a coleta seletiva atravs do exemplo comunidade, pblico externo e
usurios da FEAM e SEMAD;
- Contribuir para o crescimento da conscincia ambiental entre os servidores,
prestadores de servios e usurios da FEAM e SEMAD;
- Promover mudana de atitude com relao ao uso do papel.
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel
Programa de Limnologia e Piscicultura
A construo de uma hidreltrica provoca desequilbrio na estrutura das
comunidades aquticas, determinando, principalmente, o desaparecimento ou
proliferao de espcies e a instalao de organismos invasores. Essas alteraes
podem levar a impactos relacionados diretamente a aspectos scio-econmicos,
diminuio do potencial pesqueiro e mesmo ao comprometimento do
empreendimento em questo.
Para minimizar esses impactos causados ao ambiente pela construo de barragens
e formao de reservatrios, a Cemig vem, ao longo dos anos, implantando uma
poltica de pesquisa, envolvendo instituies, universidades e a prpria Empresa.
Esse trabalho foi iniciado em 1975 com um levantamento bioecolgico dos
reservatrios da bacia do rio Grande, pertencentes ao sistema Cemig. Como
resultado desses estudos, foi implantada a Estao de Pesquisa e Desenvolvimento
Ambiental na usina de Volta Grande, com o objetivo de desenvolver trabalhos nas
reas de limnologia e piscicultura. Posteriormente, a Cemig implantou outros centros
de pesquisa e produo de alevinos, um em Itutinga e outro em Machado Mineiro.
Firmou, ainda, convnio com a Codevasf, com a finalidade de desenvolver aes no
alto do rio So Francisco e nas bacias do Pardo do Jequitinhonha.
266
-Centros de pesquisas abertos comunidade cientfica
Os centros possuem tanques e lagos de piscicultura, laboratrios, museu, bibliotecas
setoriais, salas de estudos e reunies, com recursos para realizao de trabalhos
junto comunidade cientfica, alm de viveiros para produo de mudas de plantas
utilizadas na arborizao urbana, mata ciliar e pomar para alimentao de animais
diversos.
- Desenvolvimento e repasse de novas tecnologias
Os peixes migradores ou de piracema, que constituem grande parte das espcies
brasileiras, no se adaptam ao regime de guas lnticas dos reservatrios, para
completar o seu processo reprodutivo. Assim, um dos mais importantes trabalhos
desenvolvidos pela Cemig a realizao, em laboratrios, da reproduo induzida
de peixes como piau, dourado, ja, matrinx, piapara, curimbat, surubim e
piracanjuba.
Utilizando-se a tcnica da induo consegue-se completar o processo reprodutivo de
espcies cultivadas nos tanques das estaes ou capturadas em reservatrios
durante o perodo de piracema. Aps a desova, as ps-larvas de peixes so
mantidas nos tanques at atingirem a fase de alevinos ou jovens, quando ento so
transferidos para os reservatrios. Nesses, so realizados os peixamentos que
visam a conservao da biodiversidade ou a manuteno da pesca.
Os centros esto gerando, alm disso, tecnologia de criao de peixes no sistema
tanque-rede, o que possibilita uma maior produo de alevinos em uma menor rea.
Pode-se, assim, realizar peixamentos com indviduos de maior porte e, portanto,
mais hbeis para escapar de predadores.
Foi montado, ainda, paralelo aos trabalhos de recomposio da fauna ictica, um
programa de monitoramento das aes implementadas. Esse programa visa avaliar,
retificar ou ratificar medidas adotadas e fornecer subsdios para programas futuros.
Inclui estudos de biologia pesqueira, desembarque de pescado e migrao de peixes
nas reas de influncia dos reservatrios.
Associado ao monitoramento da ictiofauna, feito um acompanhamento das
condies e qualidade da gua, compreendendo a coleta de dados fsicos, qumicos
e biolgicos, em diferentes locais e profundidades.
- Piscicultura a servio da comunidade
O programa das estaes, alm do monitoramento dos reservatrios da Cemig e sua
rea de influncia, realiza estudos sobre a ecologia e a biologia das espcies de
peixes e sobre as condies fsico-qumicas e biolgicas das guas dos tanques de
piscicultura. Desse programa decorrem cursos bsicos de piscicultura para formao
de mo-de-obra e repasse de tecnologia voltada para peixes nativos.
Parte da produo de alevinos transferida para os servios de extenso rural e
universidades, promovendo parcerias para formao de fazendas de peixes.
Incrementa-se, assim, a produo de pescado e incentiva-se a pesquisa.
267
Considerando-se a importncia dessas pesquisas, as informaes so repassadas
aos empregados da Empresa e a estudantes, de forma a envolver a sociedade e,
particularmente, as comunidades circunvizinhas. Promove-se, assim, junto com a
difuso da informao, uma mudana de postura frente s questes ambientais.
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/mg4.html
O relevo de Minas Gerais responsvel, por assim dizer, por torn-lo o Estado mais
elevado do Brasil. Grande parte das terras altas da regio Sudeste so abrangidas
pelo Estado e distribudas, em termos de altitude, das seguinte forma:
93% acima de 300m
57% acima de 600m
20% entre 900 e 1500m
Os dados acima referidos dizem respeito a regio Sudeste (So Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Esprito Santo). J a superfcie ocupada pelas terras com
altitude entre 900 e 1500m em Minas Gerais de aproximadamente 98 mil km,
identificando-se cinco unidades geomorfolgicas em seu territrio.
Planalto Cristalino
Estende-se na poro leste, sudeste e sul de Minas Gerais onde so formadas
vrias serras de importncia como a da Mantiqueira, do Capara e de Aimors.
A altitude mdia apresentada nos trechos de planalto de 800m decaindo na rea
da Zona da Mata (trecho mais baixo).
Na poro norte ocorrem depresses formando os vales dos rios Jequitinhonha e
Doce.
Serra do Espinhao
Inicia-se na regio central de Minas Gerais prolongando-se at o norte da Bahia.
Seus terrenos so ricos em minrios (ferro, bauxita, mangans e ouro).
A altitude mdia da Serra do Espinhao gira em torno dos 1.300m.
268
Depresso do So Francisco
Est localizado na poro oeste de Minas Gerais, atravessando-o no sentido norte-
sul. A altitude mdia atingida neste relevo decai de 700m (Espinhao) para 500m
(fronteira com a Bahia).
No centro desta depresso corre o rio So Francisco.
Planalto do So Francisco
formado por um conjunto de chapades que apresentam relevo ondulado estando
separados por vales, como por exemplo, os dos rios Paracatu e Urucuia.
Serras como da Canastra e da Mata da Corda com altitudes mdias de mil metros
so representantes nesta unidade.
Planalto do Paran
Sua altitude mdia de 600m sendo cortado por vrios rios dentre eles o Prata, o
Tijuco e o Araguari.
Ocupa a regio do conhecido Tringulo Mineiro (extremo oeste de Minas, fronteira
com So Paulo, Gois e Mato Grosso do Sul).
O ponto mais alto do Estado est na Serra do Capara com 2.889,80m, denominado
Pico da Bandeira.
Clima, Hidrografia e Vegetao
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/mg5.html
Clima
Tropical e tropical de altitude so as tipologias climticas ocorridas em Minas Gerais.
Tropical (Aw) - regies mais baixas (Zona da Mata, depresso do So Francisco e
planalto cristalino - poro noroeste). Temperatura varivel entre 22 e 23C com
chuvas predominantes no vero e invernos secos. O ndice pluviomtrico chega a
1.300/1.400mm (sul) e 700/900mm (norte).
Tropical de Altitude (Cwb) - regies mais elevadas (serras da Canastra,
Espinhao, Mantiqueira e sul do Estado). Temperaturas oscilando de 17 a 20C; as
chuvas ultrapassam facilmente os 1.300mm anuais.
Hidrografia
formada pelos rios integrantes da Bacia do So Francisco, Paran e outras
pequenas bacias que seguem em direo ao oceano Atlntico.
269
Bacia do So Francisco
Mais extensa do estado e com o maior potencial hidreltrico. Nasce a mil metros de
altitude, na Serra da Canastra, formando uma via de comunicao entre a regio
sudeste e nordeste de Minas Gerais.
Principais afluentes:
Margem esquerda: Carinhanha, Urucuia e Paracatu
Margem direita: Paraopeba, das Velhas e Verde Grande
Bacia do Paran
Est representada no pelo rio Paran diretamente, mas pelos rios Grande,
Paranaba e afluentes, seus formadores.
Rio Grande: nasce na Serra da Mantiqueira servindo como divisa para os estados
de So Paulo e Minas Gerais. Vrias hidreltricas esto instaladas em seu curso,
dentre elas Furnas e Estreito
Rio Paranaba: nasce na Serra da Mata da Corda limitando Minas Gerais de Mato
Grosso do Sul e Gois.
Rios igualmente importantes para o estado esto localizados em sua poro leste
desaguando no oceano. Rios Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraba do Sul (limita
Minas Gerais e o Rio de Janeiro).
Vegetao
O estado de Minas Gerais, especialmente nas pores sul e leste, so recobertas
por Floresta Atlntica (hoje quase extintas). Em reas de cerrado, onde os solos so
um pouco melhores ocorrem outras tipologias vegetacionais como: mata da Jaba
(poro norte), mata do corda (chapado do Corda) e mata do vale dos rios
Paranaba e Grande. O restante do estado formado por campos cerrados. Alm
destas, outras tipologias existem no territrio: campos limpos (alta bacia do rio
Grande) e caatinga (alto vale do rio Jequitinhonha e prximo a Bahia).
Devido a interferncia do homem nestes ambientes, o revestimento vegetal foi sendo
deva stado, e destinado produo de carvo vegetal resultando em campos de
cultura, pastagens artificiais e explorao madeireira.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&co
nteudo=./estadual/mg6.html
Minas Gerais considerado um dos maiores centros tursticos do Brasil; apresenta
variadas opes, tais como, parques florestais, grutas, estncias hidrominerais e
muitas cidades histricas, as quais guardam riqussimas esculturas e obras de arte
de sculos passados e cenrio da poca de Brasil Colnia.
270
Para uma melhor compreenso e aproveitamento o estado foi dividido em circuitos
tursticos.
Circuito das guas
Localiza-se ao sul de Minas Gerais sendo muito freqentado por turistas do Brasil e
do exterior atrados pelas propriedades medicinais e teraputicas das guas. Estas
guas foram descobertas pelos indgenas locais, sendo freqentada pela famlia
real. So Loureno, Caxambu, Cambuquira, Lambari, Baependi so municpios que
integram este circuito.
Circuito do Diamante
Apresenta histrias e lendas como a de Chica da Silva, a descoberta e explorao
das minas de diamantes e a cultura local. Integram o circuito do diamante os
municpios de: Diamantina, Felcio dos Santos, Couto de Magalhes, So Gonalo
do Rio Preto, Dantas, Gouvea e Presidente Kubitschek.
Circuito das Grutas
As grutas mineiras espalham-se ao todo por 100 municpios, as grutas de Maquin e
Rei do Mato so as mais conhecidas. um circuito que remonta ao incio da
paleontologia no Brasil (Homem de Lagoa Santa). Fazem parte deste circuito: Sete
Lagoas, Cordisburgo, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matosinhos, Confins,
Funilndia, Prudente de Morais e Capim Branco.
Circuito do Ouro
O ouro da regio foi um dos principais responsveis pela vinda de exploradores e
conseqente colonizao. Muitas obras de arte feitas em ouro, histrias e a prpria
cultura se mostram vivas. Representam e relembram a poca as cidades de Ouro
Preto, Mariana, Congonhas, Sabar, Ouro Branco, Itabirito, Santa Brbara, Santa
Luzia, Caet, Nova Lima, Belo Vale, Raposos, Catas Altas, Baro de Cocais, Bom
Jesus do Amparo, Itabira, So Gonalo do Rio Abaixo e Rio Acima.
Circuito das Serras
Ao passo que revelam grandes belezas naturais, tambm escondem outras como
cachoeiras, grutas, vales, florestas etc, ambientes que podem ser encontrados e
apreciados nas cidades de Serra, Jabuticatubas, Congonhas do Norte, Conceio do
Mato Dentro, Santo Antonio do Itamb, Morro do Pilar, Santo Antonio do Rio Abaixo,
So Sebastio do Rio Preto, Santa do Riacho, Alvorada de Minas, Dom Joaquim e
Itamb do Mato Dentro.
Circuito Terras Altas da Mantiqueira
Como o prprio nome j diz, trata-se de uma das regies mais altas. O circuito
formado por sete municpios sendo seus roteiros ecolgicos os mais completos do
Brasil; so eles Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro, Pouso Alto, Alagoa, So
Sebastio do Rio Verde, Delfim Moreira, Virginia, Marmelpolis.
271
Circuito Trilha dos Inconfidentes
Foi formado seguindo o itinerrio das tropas em busca de ouro que tinham em suas
mentes ideais libertadores. Atualmente, a passagem feita por cidades que fazem
parte da histria brasileira e da populao local, resgatando por meio das
construes de poca e obras de arte o passado mineiro. Sugere-se um passeio por
Tiradentes, So Joo Del Rey, Barbacena, Barroso, Dolores do Campo, Entre Rios
de Minas, Santa Cruz de Minas, Prados, Ritpolis, Lagoa Dourada, So Tiago,
Resende Costa e Coronel Xavier Chaves.
Circuito Pico da Bandeira
Engloba as regies onde esto situadas as grandes elevaes mineiras como o Pico
do Capara (2.890m.) terceiro ponto mais alto do Brasil, e seu parque nacional, o
qual se estende at a divisa com o Esprito Santo. Ambientes propcios para
expedies panormicas so encontradas nas cidades de: Alto Capara, Alto
Jequitiba, Capara, Manhau, Carangola, Manhumirim, Divino, Durand, Espera
Feliz, Faria Lemos, Lajinha, Luisburgo, Caputira, Chal, Martins Soares, Matip,
Santana do Manhuau, So Francisco do Glria, So Joo do Manhuau, So Jos
do Manimento, Sem Peixe, Simonsia, Tombos.
Circuito da Canastra
basicamente voltado para a contemplao da natureza; montanhas, nascentes,
campos cerrados, sertes entre outros ambientes naturais compem o circuito que
passa pelos seguintes municpios: Arax, So Roque de Minas, Sacramento, Ibi,
Bambu, Campos Altos, Tapira e Tapira.
Circuito Caminho Novo
Relembra as dificuldades existentes para se transpor a muralha da Serra da
Mantiqueira. Neste circuito est instalada a primeira usina hidreltrica da Amrica do
Sul - Marmelos Zero; tambm engloba a cidade de origem de Santos Dumond -
patrono da aviao. Cidades do Circuito: Juiz de Fora, Santos Dumond, Aracitaba,
Antonio Carlos, Bom Jardim de Minas, Matias Barbosa, Paiva, Piau, Santa Brbara
do Tugrio, Santana do Deserto, Simo Pereira e Tabuleiro.
Cicuito Vale Verde e Quedas D'gua
De todos, este o circuito mais mstico; das nove cidades que o compem cada um
apresenta uma caracterstica peculiar. Carrancas, So Tom das Letras, Lavras,
Itumirim, Carmo da Cachoeira, Trs Coraes, Luminrias, Inga e So Bento
Abade.
Circuito reas Proibidas
o ltimo circuito criado. Fatos histricos da poca em que o ouro verde e o caf
movimentavam e traziam o desenvolvimento para a regio. Fazem parte deste
circuito as cidade de: Alm Paraba, Estrela D'Alva, Mar de Espanha, Pequeri,
Pirapetinga, Senhora de Oliveira, Volta Grande e Senador Cortes.
272
Cidades Histricas
Baro de Cocais Caet
Conceio do Mato Dentro Congonhas
Diamantina Itabirito
Mariana Ouro Preto
Prados Sabar
Santa Brbara Santa Luzia
So Joo Del Rey Serro
Tiradentes
Estncias Hidro Minerais
Arax Caldas
Cambuquira Caxambu
Jacutinga Fervedouro
Monte Sio Lambari
Patrocnio Passa Quatro
So Loureno Poos de Caldas
Estncias Climticas
Barbacena Bocaina de Minas
Itamonte Maria da F
Monte Verde So Tom das Letras
Grutas e Parques Florestais
Lapinha Maquin
Palhares Rei do Mato
Parque Estadual Rio Doce Parque Estadual do Ibitipoca
Parque Estadual do Itacolomi Parque Nacional da Serra da Canastra
Parque Nacional da Serra do Cip Parque Natural do Caraa
Parque Estadual do Sumidouro Parque Florestal Estadual de Anhumas
Parque Florestal de Jaba
Parque Nacional de Grande Serto
Veredas
Floresta Nacional de Passa Quatro Parque Nacional de Itatiaia
Parque Estadual Serra do Brigadeiro Reserva Florestal Estadual Rola-Moa
Parque Estadual Nova Baden Parque Florestal da Baleia
Reserva Biolgica Carmo da Mata Reserva Biolgica Santa Rita
Reserva Biolgica Mata dos Ausentes Reserva Biolgica Fazenda Corumb
273
Reserva Biolgica Fazenda Lajinha Reserva Biolgica Fazenda So Mateus
Reserva Biolgica So Sebastio do
Paraso
Reserva Biolgica Mata de Acau
Reserva Biolgica do Jambreiro
Governo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/mg2.html
Governador: Acio Neves da Cunha
Palcio da Liberdade
Praa da Liberdade, s/n
CEP: 30.140-912
Fone: (0xx31) 3250-6011
Fax: (0xx31) 3250-6291 / 6339
Vice-governador: Clsio Soares de Andrade
Rua da Bahia, 1600 - 9o. Andar - Lourdes
CEP: 30.160-011
Fone: (0xx31) 3250-7200
Fax: 90xx31) 3250-7208
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Odelmo Leo Carneiro Sobrinho (secretrio)
Rua Cludio Manoel, 1250
CEP: 30.140-100
Fone: (0xx31) 3287-4489
Fax: (0xx31) 3287-4476
Secretaria de Estado de Governo
Danilo de Castro (secretrio)
Praa da Liberdade, s/n - Palcio dos Despachos
CEP: 30.140-912
Fone: (0xx31) 3250-6295 / 3037 / 6008
Fax: (0xx31) 3250-6345
Secretaria de Estado da Cincia e Tecnologia
Olavo Bilac Pinto Neto (secretrio)
Praa da Liberdade, s/n
CEP: 30.140-010
Fone: (0xx31) 3250-4900
Fax: (0xx31) 3250-4918
Secretaria de Estado da Cultura
Luiz Roberto do Nascimento Silva (secretrio)
Praa da Liberdade, 317
CEP: 30.140-010
274
Fone: (0xx31) 3269-1000
Fax: (0xx31) 3261-1311
Secretaria de Estado da Educao
Vanessa Guimares Pinto (secretria)
Av. Amazonas, 5855 - Gameleira
CEP: 30.510-000
Fone: (0xx31) 3379-8200
Fax: (0xx31) 3379-8600
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes
Joo Leite da Silva Neto (secretrio)
Martim de Carvalho, 94, Gutierrez - 8 andar
CEP: 30.190-090
Fone: (0xx31) 3292-2000 / 2001 / 2021
Fax: (0xx31) 3275-4019
Secretaria de Estado da Fazenda
Fuad Jorge Noman Filho (secretrio)
Praa da Liberdade, s/n
CEP: 30.140-010
Fone: (0xx31) 3217-6374
Fax: (0xx31)3224-9280
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econmico
Wilson Nlio Brumer (secretrio)
Rua Gonalves Dias, 2553 - Santo Agostinho
CEP: 30.140-082
Fone: (0xx31) 3291-4920
Fax: (0xx31) 3337-6426
Secretaria de Estado de Defesa Social
Lcio Urbano da Silva Martins (secretrio)
Praa da Liberdade, s/n. - 1 andar
CEP: 30.140-010
Fone: (0xx31) 3250-7105
Fax: (0xx31) 3224-5049
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel
Jos Carlos Carvalho (secretrio)
Av. Prudente de Morais, 1671 - 4/5 Andares - Santa Lcia
CEP: 30.380-090
Fone: (0xx31) 3298-6200
Fax: (0xx31) 3298-6311
Secretaria de Estado do Planejamento e Gesto
Antonio Augusto Junho Anastasia (secretrio)
Rua Toms Gonzaga, 686 - Lurdes
CEP: 30.180-140
Fone: (0xx31) 3290-8100
Fax: (0xx31) 3290-8200
275
Secretaria de Estado de Sade
Marcos Vincius Caetano Pestana da Silva (secretrio)
Av. Afonso Pena, 2300
CEP: 30.130-006
Fone: (0xx31) 3261-4100
Fax: (0xx31) 3262-3222 / 3214
Secretaria Estado de Desenvolvimento Regional e Poltica Urbana
Maria Emlia Rocha Mello (secretrio)
Rua Bernardo Guimares, 2640 - Santo Agostinho
CEP: 30.140-082
Fone: (0xx31) 3337-6446
Fax: (0xx31) 3337-2949
Secretaria de Estado de Turismo
Aracely de Paula (secretria)
Praa Rio Branco, 56
CEP: 30.111-050
Fone: (0xx31) 3272-8585 / 8592
Fax: (0xx31) 3272-5605
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Pblicas
Agostinho Patrus (secretrio)
Praa da Liberdade s/n
CEP: 30.140-010
Fone: (0xx31) 3250-0900
Fax: (0xx31) 3250-0905
276
RIO DE JANEIRO
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/rj.html#historia
Histria, Povoamento e Colonizao
Primeiramente, nos idos de 1534, existiam duas capitanias: So Vicente e So
Tom, uma ao sul e outra ao norte respectivamente.
Fundada em 1565 por Estcio de S, So Sebastio do Rio de Janeiro tornou-se
mais tarde (1572) sede do Governo do Sul por ordem do Rei de Portugal que dividiu
o Brasil em duas administraes.
O progresso da cidade foi rpido sendo garantido pela pecuria, pelo cultivo de
cana-de-acar e pela agricultura de subsistncia, progresso este aumentado
quando da transformao do porto do Rio em escoadouro das riquezas mineiras, e
tornando-se em 1763 na capital do vice-reino.
Em 1808 com a mudana da famlia real para o Brasil, a regio que era vice-reino,
passou a reino portugus.
Transformado em municpio neutro no ano de 1834, e tendo sido a capitania elevada
categoria de provncia, seu sede situou-se em Niteri. Durante os anos de 1889 a
1960 o Rio de Janeiro foi a capital da Repblica, que posteriormente mudou-se para
Braslia (1960). Com esta mudana o municpio do Rio de Janeiro tornou-se Estado
da Guanabara. Em 1975 os dois Estados, da Guanabara e do Rio de Janeiro
fundiram-se formando o atual estado e sua capital de mesmo nome.
Localizao e rea Territorial
Situa-se na regio sudeste do Brasil; cortado pelo
Trpico de Capricrnio e apresenta altitude de 2 metros
acima do nvel do mar.
Sua populao aproximada de 14.367.514 habitantes,
em uma rea total de 43.909,7 km. Compreende 92
municpios divididos em oito regies, as quais diferem
quanto a sua ocupao.
277
Limita-se ao Norte e Noroeste com Minas Gerais, a Nordeste com o Esprito Santo, a
Sudoeste com So Paulo, a Leste e ao Sul com o Oceano Atlntico.
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rj1.html#mapa
278
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rrj.html
279
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hrj.html
280
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/irj.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
281
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rj2.html#gov
Governo
Governadora: Rosinha Garotinho
Palcio Guanabara - Rua Pinheiro Machado, s/n - Laranjeiras
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.238-900
Fone (0xx21) 2553-1030 / 4573 / 3518
Fax: (0xx21) 2553-6162
Vice-Governador: Luiz Paulo Conde
Rua da Ajuda, 5 - 8 Andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.040-000
Fone: (0xx21) 2299-3020 / 3060 / 3076
Secretaria de Estado de Ao Social e Cidadania
Fernando William Ferreira (secretrio)
Rua Pinheiro Machado, s/n - Prdio Anexo, 6 andar - Laranjeiras
CEP: 22.238-900
Fone: (0xx21) 2299-5697 / 2552-9141
Fax: (0xx21) 2553-6331
Secretaria de Administrao e Reestruturao do Estado
Vanice Regina Lrio do Valle (secretria)
Av. Erasmo Braga, 118 - 13 andar
CEP: 20.020-000
Fone: (0xx21) 2533-4245 / 4165
Fax: (0xx21) 2533-5979 / 4634
Secretaria de Estado de Administrao Penitenciria
Astrio Pereira dos Santos (secretrio)
Central do Brasil
Praa Cristiano Otoni, s/n - 7 Andar
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento
do Interior
Christino ureo da Silva (secretrio)
Alameda So Boaventura, 770 - Fonseca
Niteri - RJ
CEP: 24.120-191
Fone: (0xx21) 2625-4535 / 1404 / 1029
Fax: (0xx21) 2625-1490
Secretaria de Estado de Cincia, Tecnologia e Inovao
Fernando Otvio de Freitas Peregrino (secretrio)
Rua da Ajuda, 5 - 10 andar
CEP: 20.040-000
282
Fone: (0xx21) 2299-4089 / 4090
Fax: (0xx21) 2299-4137
Secretaria de Estado de Cultura
Helena Maria Porto Severo da Costa (secretria)
Rua da Ajuda, 5 - 13 andar
CEP: 20.040-000
Fone: (0xx21) 2533-0587 / 2299-3274
Fax: (0xx21) 2299-3281
Secretaria de Estado da Defesa Civil
Cel. BM Carlos Alberto de Carvalho (secretrio)
Praa da Repblica, 45
CEP: 20.211-350
Fone : (0xx21) 3399-4000 / 2242-8308
Fax: (0xx21) 3399-4909
Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Baixada Fluminense
Jabes Silva (secretrio)
Rodovia Presidente Dutra, 15.450 - Jd. Esplanada - Nova Iguau
CEP: 20.211-350
Fone: (0xx21) 2767-3253 / 767-3264
Fax: (0xx21) 2767-3253 ramal 203
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econmico e Turismo
Tito Bruno Bandeira Ryff (secretrio)
Rua da Ajuda, 5 - 7 andar, Centro
CEP: 20.040-000
Fone: (0xx21) 532-1010 / 2553-6773 / 6668
Fax: (0xx21) 2533-3525 / 2262-3326
Secretaria de Estado de Educao
Darclia Aparecida da Silva Leite (secretria)
Rua da Ajuda, 5 - 5 andar
CEP: 20.040-000
Fone: (0xx21) 2299-3607 / 3601
Fax: 2299-3608
Secretaria de Estado de Energia, da Indstria Naval e Petrleo
Wagner Granja Victer (secretrio)
Rua da Ajuda, 5 - 16 andar
CEP: 20.040-000
Fone: (0xx21) 2299-4219
Fax: (0xx21) 2299-4221
Secretaria de Estado de Esportes
Francisco Manoel Carvalho (secretrio)
Rua Professor Eurico Rabelo, s/n - porto 18 - 5 Andar
CEP: 22.271-150
Fone (0xx21) 2234-3269 / 2284-3997
Fax: (0xx21) 2264-9711
283
Secretaria de Estado de Fazenda
Mrio Tinoco da Silva (secretrio)
Rua da Alfndega, 42 - 1 andar
CEP: 20.070-000
Fone: (0xx21) 2212-7502
Fax: (0xx21) 2212-7506
Secretaria de Estado de Governo
Jaime Wallwitz Cardoso (secretrio)
Rua Pinheiro Machado, s/n - Anexo, 3 Andar - Laranjeiras
CEP: 22.238-900
Fone (0xx21) 2299-5472 / 5473
Fax: (0xx21)2551-6449
Secretaria de Estado de Habitao
Fernando Avelino Boeschenstein Vieira (secretrio)
Rua da Ajuda, 5 - 17 Andar - Centro
CEP: 20.040-000
Fone: (0xx21) 2299-4003 / 4004
Fax: (0xx21) 2299-4006
Secretaria de Estado de Integrao Governamental
Luiz Rogrio Gonalves Magalhes (secretrio)
Rua Pinheiro Machado, s/n - s. 224/226 - Laranjeiras
CEP: 22.238-900
Fone: (0xx21) 2299-5560 / 5561
Fax: (0xx21) 2299-3432
Secretaria de Estado de Justia e Direitos do Cidado
Srgio Zveiter (secretrio)
Central do Brasil, Praa Cristiano Otoni - 3 Andar
Fone: (0xx21) 2283-4418 / 2518-0757
Fax: (0xx21) 3399-1392
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Luiz Paulo Fernandes Conde (secretrio)
Palcio Guanabara - Rua Pinheiro Machado s/n - Anexo - 2 andar
CEP: 22.238-900
Fone: (0xx21) 2553-6366
Fax: (0xx21) 2299-5292
Secretaria de Estado de Planejamento, Controle e Gesto
Fernando Lopes de Almeida (secretrio)
Rua Pinheiro Machado, s/n - Anexo Palcio Guanabara
CEP: 22.238-900
Fone: (0xx21) 2299-5420
Fax: (0xx21) 2299-5418
Secretaria de Estado de Sade
Gilson Cantarino O'Dwyer (secretrio)
Rua Mxico, 128 - 5 andar
CEP: 20.031-142
284
Fone: (0xx21) 2240-2768 / 2868
Fax: (0xx21) 2220-5089
Secretaria de Estado de Segurana Pblica
Cel. PM Josias Quintal Oliveira (secretrio)
Av. Presidente Vargas, 817 - 15 Centro
CEP: 20.071-004
Fone: (0xx21) 3399-1000 / 1999
Fax: (0xx21) 3399-1008
Secretaria de Estado e Trabalho
Marco Antonio Lucidi (secretrio)
Av. General Justo, 275 - 6 andar
CEP: 20.021-130
Fone: (0xx21) 2533-0544 / 2532-2512
Fax: (0xx21) 2220-0871
Secretaria de Estado de Transportes
Augusto Jos Ariston (secretrio)
Rua da Ajuda, 5 - 4 andar
CEP: 20.040-000
Fone: (0xx21) 2299-3451 / 2533-6499
Fax: (0xx21) 2533-5275
rgos Ambientais
- Fundao Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA
Isaura Maria Ferreira Fraga (presidente)
Rua Fonseca Teles, 121
CEP: 20.940-200
Fone: (0xx21) 3891-3366
Fax: (0xx21) 589-3283
E-mail: feema@proderj.rj.gov.br
- Fundao Instituto Estadual de Florestas - IEF
Roberto Conceio Flix (presidente)
Av. 13 de maio, 33 - 27o. andar
CEP: 20.031-000
Fone: (0xx21) 240-7655
Fax: (0xx21) 262-0682
E-mail: andreilha@ief.rj.gov.br
- SERLA - Fundao Superintendncia Estadual de Rios e Lagoas
- CECA - Comisso Estadual de Controle Ambiental
- CONEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente
- FECAM - Fundo Estadual de Controle Ambiental
285
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rj3.html#proj
Existem outros projetos desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano, os apresentados a seguir so apenas uma mostra do que
o Estado do Rio de Janeiro faz na questo ambiental.
Maiores informaes podero ser obtidas no seguinte endereo:
http://www.semadur.rj.gov.br
Projeto Pr-Lixo
O controle e a destinao final do lixo uma preocupao de mbito mundial. Por
isso, o Governo do Estado criou, em 2000, o Programa Pr-Lixo que se prope a
estabelecer linhas de ao para o controle do lixo urbano, sobretudo para sua
destinao final, atravs de parcerias com as prefeituras. Desta forma, 47 municpios
assinaram convnio com o Estado, o que beneficiar 1.838.724 de habitantes.
Caber ao Estado liberar parte dos recursos, oriundos do Fundo Estadual de
Conservao Ambiental (Fecam), para que os municpios possam apresentar e
implementar projetos voltados para a destinao final dos resduos urbanos slidos,
alm de atuar na capacitao do quadro funcional.
Veja, a seguir, detalhes sobre o Projeto Pr-Lixo:
Objetivo: Implantao de sistemas de destinao final de resduos slidos urbanos,
compostos por Unidades de Triagem e Compostagem e aterros sanitrios;
desenvolvimento de atividades de Educao Ambiental; treinamento de pessoal das
Prefeituras e das Secretarias Municipais envolvidas. O programa tambm tem por
finalidade a retirada das pessoas que vivem nos lixes e a incluso social dos
catadores de lixo.
Perspectivas para 2003: Cerca de 25 municpios devero ter seus projetos
plenamente implantados at o final de 2003.
Ainda este ano, a expectativa estabelecer parcerias com outros 36 municpios,
perfazendo um total de 83 prefeituras beneficiadas pelo programa.
Oramento previsto para 2003: cerca de R$34 milhes. A dotao foi aprovada em
Oramento, pelos rgos fiscalizadores (Fecam, Alerj, Tribunal de Contas,
Secretaria de Fazenda e Controle).
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) o Banco vai financiar parte do
Programa Pr-Lixo.
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel -
www.semads.rj.gov.br
286
Parque dos Trs Picos
Com 46.350 hectares, o Parque Estadual dos Trs Picos ser o maior parque
estadual do Rio de Janeiro, ele representa um acrscimo de 75% de toda a rea
protegida por parques e reservas estaduais, e seu nome evoca os Trs Picos de
Friburgo, imponente conjunto de montanhas granticas que, com cerca de 2.350
metros de atitude, o ponto culminante de toda a Serra do Mar.
Situado nos municpios de Terespolis, Nova Friburgo, Guapimirim, Silva Jardim e
Cachoeiras de Macacu, sendo que neste ltimo ficam cerca de 2/3 de sua rea, o
novo parque visa preservar o cinturo central de Mata Atlntica do Estado, que j
perdeu cerca de 83% de sua cobertura florestal original. Em suas densas matas
foram detectados os mais elevados ndices de biodiversidade em todo o Estado, isto
, a maior variedade de espcies animais e vegetais em uma dada unidade de rea,
sendo por isso considerada uma regio da mais elevada prioridade, em termos de
conservao, pelos especialistas.
Muitas espcies altamente ameaadas, especialmente grandes mamferos como o
porco do mato, a lontra e a jaguatirica ou aves como o gavio-pega-macaco, que ali
encontram refgio, pois o Parque Estadual dos Trs Picos forma um longo contnuo
florestal com o Parque Nacional da Serra dos rgos e com a Estao Ecolgica do
Paraso, em Guapimirim. Sem o estabelecimento de tais contnuos de vegetao,
populaes isoladas destas e de outras espcies entram em inevitvel declnio,
devido aos cruzamentos entre parentes prximos.
Com a criao do parque ficam tambm garantidos os mananciais que abastecem
todas as cidades vizinhas, um dado muito importante quando nos lembramos das
recentes crises de abastecimento de gua de boa qualidade para a populao do
estado.
Alm disso, o Parque Estadual dos Trs Picos representa um novo e vigoroso
estmulo ao desenvolvimento regional, pois favorecer o turismo em todas as suas
formas, em especial o eco turismo, j que o parque encerra muitas trilhas, escaladas
e cachoeiras de inigualvel beleza.
A criao do Parque com suas montanhas de expresso, Calednia, Pedra do
Fara, Torres de Bonsucesso, Mulher de Pedra e os prprios Trs Picos, dentre
muitas outras, a resposta concreta e entusistica que o Governo Estadual d para
esta questo de tanta importncia para todos os cariocas.
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel -
www.semads.rj.gov.br/default.asp
Educao Ambiental
A preservao e recuperao dos recursos ambientais do Estado e a efetiva
implantao de modelos ambientalmente sustentveis passam, necessariamente,
pela educao da populao em relao aos temas ambientais, seja no mbito
formal das escolas ou no. No IEF/RJ, a educao ambiental contemplada em
diversas atividades.
287
So freqentes as atividades educativas nas unidades de conservao
administradas pelo IEF/RJ, com o intuito de conscientizar os visitantes em relao
ao impacto causado por sua presena, bem como os moradores do entorno sobre os
efeitos mltiplos do turismo e da efetiva melhoria da qualidade de vida
proporcionada pela proximidade de tais espaos protegidos. So realizados plantios
simblicos de mudas, em cooperao com escolas, ONGs e outras entidades,
principalmente em datas simblicas relativas questo ambiental. Tem sido
realizados, ainda, cursos de capacitao para moradores do entorno das UCs, com
o intuito de seleciono-las e contrato-las, atravs de cooperativas de trabalho, como
guardies dos parques e reservas estaduais e como condutores de trilha, sempre
deixando claro o carter opcional desta ltima atividade. A capacitao e
contratao j foram realizadas,por exemplo, nos Parques Estaduais do Desengano
e da Pedra Branca.
Atividades visando maior sustentabilidade ambiental e econmica dos moradores do
entorno das unidades de conservao, de modo a reduzir a presso sobre os
recursos naturais dentro destas reas, tm sido fortemente enfocadas pelos
programas ambientais vinculados aos projetos financiados com recursos oriundos de
medidas compensatrias.
Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel -
www.ief.rj.gov.br
Clima, Hidrografia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rj4.html#relevo
Ocorrem duas unidades de relevo no Estado. A Baixada com terras situadas abaixo
dos 200m de altitude, e o Planalto com altitudes acima de 200m.
Baixada
Conhecida como Baixada Fluminense segue todo o litoral ocupando
aproximadamente metade da superfcie do territrio. Sua largura varia em
determinados pontos, como por exemplo, entre a baa de Ilha Grande e Sepetiba
vindo a alargar-se posteriormente de leste at o rio Macacu.
Na rea perimetral da cidade do Rio de Janeiro erguem-se dois macios: o da Tijuca
e da Pedra Branca, com altitude superior a mil metros, trecho em que a baixada
apresenta-se mais alargada, voltando a estreitar-se da baa de Guanabara at a
regio de Cabo Frio onde ocorrem sucessivas pequenas elevaes (200 a 500m)
chamados de macios litorneos fluminenses. Novo alargamento ocorre a partir de
Cabo Frio atingindo o delta do rio Paraba do Sul sua extenso mxima.
Localizado na rea da baixada, o litoral fluminense subdivide-se em trs unidades
apresentando variao quanto a sua paisagem.
regio de praias e cordes arenosos, ao extremo sul do Estado, estendendo-se
de Parati at a Ilha de Itacuru
288
regio de restingas, baixadas e lagunas, compreende a rea de litoral entre a Ilha
de Itacuru e Arraial do Cabo
regio de restingas, baixadas e lagunas, compreende a rea entre Arraial do
Cabo at o delta do rio Paraba do Sul com ocorrncia de dunas de areia
Planalto
Situado no interior do Estado tem como rebordo a Serra do Mar, a qual recebe
diversas denominaes na localidade, entre elas Serra dos rgos - abrigando a
Pedra do Sino (2.263m) e a Pedra-Au (2.232m) - Serra das Araras, Serra da Estrela
e Serra do Rio Preto.
A Serra da Mantiqueira por sua vez, participa da cobertura noroeste do Estado;
seguindo em sentido ao interior a altitude do planalto diminui atingindo 250m no Vale
do Paraba do Sul. Na regio nordeste h a ocorrncia de morros e colinas com
baixas altitudes.
Com 2.787m de altitude o Pico das Agulhas Negras, situado na Serra do Itatiaia
considerado o ponto mais alto do Estado.
Clima
Apresenta-se variado de acordo com a tipologia de relevo local.
Na regio de baixada predomina o tropical semi-mido, onde as chuvas so
abundantes principalmente no vero e invernos secos. Temperaturas na mdia dos
24C e chuvas com ndice aproximado a 1.250mm ao ano.
Junto a rea limtrofe entre a baixada e o planalto (regio serrana) ocorre o clima
tropical de altitude; os invernos so rigorosos e veres bastante quentes com
temperaturas mdias anuais de 16C. As chuvas esto presentes de maneira
abundante, em torno de 2.200mm/ano.
Com presena na maior parte do planalto, est o clima tropical de altitude,
caracterizado por veres quentes e chuvosos, invernos frios e secos. A mdia da
temperatura anual de 20C, e o ndice pluviomtrico atingido entre 1.500 a
2.000mm anuais.
Hidrografia
O principal rio do Estado o Paraba do Sul, originando-se em So Paulo seguindo
em direo ao oceano Atlntico, onde desemboca.
Principais afluentes:
Margem Direita: Piabinha, Pira e Paraibuna
Margem Esquerda: Pomba e Muria
289
De norte para sul, outros rios destacam-se entre eles o Itabapoana - limita os
Estados do Rio de Janeiro e Esprito Santo, o Macabu - desgua na lagoa Feia, o
Maca, o So Joo, o Guandu e o Maj.
Muitas lagoas pontuam o litoral, lagoas estas formadas pelo fechamento de baas
por cordes de areia. Lagoa Feia (maior do Estado), Araruana, Maric e Saquarema
esto entre as mais importantes, alm das lagoas de Jacarepagu, Marapendi e
Rodrigo de Freitas situadas na capital fluminense.
Vegetao
Devido a intensa ocupao agropastoril de pocas passadas, hoje pouco resta da
vegetao primitiva dominante em 91% da superfcie carioca. Atualmente restam
pequenas manchas localizadas em pontos de difcil acesso (encostas da Serra do
Mar e Mantiqueira).
Florestas Ombrfila Densa, Ecossistemas Costeiros (manguezais, restinga, praia),
campos de altitude (Serra dos rgos e Macio Itatiaia) e campos da plancie do
delta do Paraba do Sul (Campos dos Goitacazes) formavam a cobertura
vegetacional do Rio de Janeiro, hoje bastante alterada, contando com alguns
remanescentes.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rj5.html#turismo
Muitas so as opes de turismo neste Estado, sendo esta uma de suas vocaes.
So atrativos para todos os gostos, culturais, naturais, festas, compras, etc,; a cada
ano que passa mais e mais pessoas buscam o Rio de Janeiro para passar frias, ou
simplesmente para passear, sendo grande parte dos turistas estrangeiros.
Dos diversos pontos tursticos existente no Rio, cada qual em uma regio especfica,
mesclam-se locais culturais, naturais entre outros.
Atrativos fluminenses como o Reveillon e Carnaval, as Regies do Itatiaia, Serrana e
Litoral, bem como o Ecoturismo sero abordadas a seguir.
Pontos Tursticos
Arcos da Carioca Aterro do Flamengo Casa do Pontal
Centro Cultural
Banco do Brasil
Comrcio da Rua Confeitaria Colombo Copacabana Palace Corcovado
Enseada de
Botafogo
Floresta da Tijuca Forte de Copacabana Fundao RioZoo
Gafieira
Estudantina
Igreja de Nossa
Senhora da
Candelria
Igreja de Nossa
Senhora do
Bonsucesso
Ilha de Paquet
Ilha Fiscal Ipanema
Jardim Botnico
Jockey Club
Brasileiro
Lagoa Rodrigo de Largo do Boticrio Maracan Mosteiro de So
290
Freitas Bento
Museu Casa do
Pontal
Museu da Chcara
do Cu
Museu de Arte
Moderna
Museu Histrico
Nacional
Museu
Internacional Arte
Naif
Os arredores do Rio Palcio do Catete Po de Acar
Parque das
Ruinas
Praa Quinze de
Novembro
Praia da Barra da
Tijuca
Praia de
Copacabana
Shoppings
Centers
Stio Roberto Burle
Marx
Theatro Municipal
Reveillon e Carnaval
H vrios anos o Rio tem sido procurado com frequncia por turistas, no s
brasileiros como tambm estrangeiros para a virada do ano - Reveillon. A cada ano
que passa a busca por hotis torna-se mais difcil e o espetculo da queima de fogos
mais bonito.
Outra festividade que rene povos de todas as partes do mundo o Carnaval.
Segundo levantamento realizado no Carnaval de 2001, passaram pelo Sambdromo
Darcy Ribeiro (Marqus de Sapuca) cerca de 60 mil pessoas durante as quatro
noites para assistir aos desfiles.
Desfilam durante as quatro noites de carnaval vrios blocos carnavalescos, escolas
de samba do grupo de acesso e do grupo especial alm da liga mirim. Dentre as
maiores e mais conhecidas escolas de samba esto: Beija Flor, Caprichosos de
Pilares, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Imprio Serrano, Mangueira,
Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela, Porto da Pedra, Salgueiro, So
Clemente, Tradio, Unidos da Tijuca e Viradouro.
Regio Serrana
Representada pela Serra dos rgos, abriga importantes cidades tursticas como
Petrpolis, Terespolis e Nova Friburgo cada qual com seus aspectos particulares.
Petrpolis: abrange 826 km do estado estando a 68 quilmetros do Rio; abriga o
Museu do Imperador - antiga residncia de D. Pedro II, Hotel Quitandinha, Palcio
de Cristal, Catedral de So Pedro Alcantara.
Terespolis: localiza-se prximo a Petrpolis; seu smbolo a montanha Dedo de
Deus cuja formao em pedra faz parte da Serra dos rgos. Piscinas naturais,
trilhas em meio a mata nativa, restaurantes e hotis-fazenda agradam seus
visitantes.
Nova Friburgo: os rios da regio so bastante propcios para a prtica de
canoagem. Outros pontos como o povoado de Lumiar com seus restaurantes tpicos,
o telefrico do Morro da Cruz, as Furnas do Catete so locais a se visitar.
291
Regio de Itatiaia
A regio conhecida por abrigar o primeiro Parque Nacional criado no Brasil -
Parque Nacional de Itatiaia - em 1937. Ao todo so 12 mil hectares, apresentando
muitas montanhas no topo das quais ocorrem nevascas no inverno. O turismo nesta
rea mais voltado contemplao da natureza. Cachoeiras, trilhas, piscina natural,
locais para a prtica do alpinismo e canoagem so encontrados nas imediaes.
Integrando a rea do parque est o pico das Agulhas Negras, ponto mais alto do
estado com 2.787 metros de altura.
Litoral
formado por trs trechos distintos:
1) tabuleiros, baixadas e restingas que vo do delta do rio Paraba do Sul at
Arraial do Cabo compem a regio chamada de Costa do Sol onde esto situadas
as praias de Cabo Frio e Bzios.
2) do Arraial do Cabo at a Ilha de Itacuru ocorrem as restingas, lagunas e
baixadas. reas montanhosas prximas a beira-mar complementam a paisagem com
o Po de Acar e o Corcovado. Nas reas costeiras esto as lagoas Rodrigo de
Freitas e Jacarepagu; Ipanema, Leblon e Marambaia esto situados em rea de
restinga.
3) vai da Ilha de Itacuru at a regio de Parati, sendo conhecida como Costa
Verde, predominando praias e cordes arenosos estreitos.
Ecoturismo
Unindo-se mar, montanhas e florestas tropicais forma-se um ambiente propcio para
a prtica do Ecoturismo. So vrias as opes: trilhas para caminhadas com
diversos graus de dificuldade, alpinismo, asa-delta, esqui-aqutico, mergulho,
parapente, para-quedismo, pesca ocenica, rafting entre outros.
H tambm uma boa diversidade de locais para se desenvolver tais esportes.
Floresta da Tijuca: maior floresta urbana do mundo, encontrando-se em sua rea
cachoeiras, grutas, trilhas, fauna e flora nativa e extica.
Jardim Botnico: situado na Zona Sul do Rio composto por cerca de 8 mil
espcies vegetais classificadas, reas de mata atlntica e 11 mil espcimes do
mundo todo. Local prprio para caminhadas e observao da natureza.
Ilha Grande: pratica-se caminhadas pela Mata Atlntica e praias desertas, mergulho
e caa submarina.
Parque Nacional da Bocaina: turismo voltado contemplao das paisagens da
serra.
Parque Nacional de Itatiaia: trata-se de uma regio montanhosa, porm, com reas
de fcil acesso para caminhadas. Para se chegar ao Pico das Agulhas Negras
necessrio o acompanhamento de um guia local que conhea a regio.
292
Visconde de Mau: limita-se com o Parque Nacional de Itatiaia; sua altitude de
1.300 metros.
Nova Friburgo: localiza-se na regio da Serra dos rgos a 800 metros de altitude
(nvel do mar); indica-se as caminhadas s Furnas do Catete e Maca de Cima.
Terespolis e o Parque Nacional da Serra dos rgos: comum a prtica de
trekking e escalada no pico da Serra dos rgos, para o qual se faz necessrio uma
autorizao do IBAMA local.
Pontos Tursticos Naturais
Bosque da
Barra
Parque Estadual Macio de
Pedra Branca
Serra do Medanha
Parque da
Chacrinha
Parque da
Cidade
Parque Lage
Parque do Museu da
Repblica
Parque da
Saudade
Passeio
Pblico
Pedra do Leme Praia de Copacabana
Praia de
Ipanema
Praia do
Leblon
Praia do Arpoador Praia do Diabo
Praia do
Flamengo
Praia do
Grumari
Restinga da Marambaia Quinta da Boa Vista
Reserva do
Graja
Zoobotnica
Criadouro Zoobotnico da
Pedra Branca
293
SO PAULO
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/sp.html
Histria, Povoamento e Colonizao
Martin Afonso de Sousa fundou a Vila de So Vicente (a mais antiga do Brasil) em
1532 dando incio colonizao do atual Estado de So Paulo.
Baseado economicamente na agropecuria de subsistncia (sc. XIX), e em
conjunto com a cultura cafeeira, as condies de obteno de energia eltrica e a
qualificao profissional de imigrantes, foi possvel acumular capital e fornecer
matria-prima para o desenvolvimento da regio. O crescimento da populao e a
extenso das estradas de ferro foram resultados da cultura do caf na regio. O
desenvolvimento econmico se deu devido a proximidade da cidade de So Paulo
(principal centro consumidor) com o Porto de Santos.
No final do sculo XIX, aumentou o nmero de imigrantes vindos de outras regies
do Brasil intensificando o processo de urbanizao.
So Paulo e Minas Gerais detinham o controle da poltica brasileira no incio do
sculo XX at a Revoluo de 1930, quando ocorreu o fim da liderana da oligarquia
cafeeira. Inconformada com o fato, iniciaram a Revoluo Constitucionalista (1932)
onde os paulistas foram derrotados.
Localizao e rea Territorial
Situado na regio sudeste do Pas o Estado
limita-se:
Norte: Minas Gerais
Nordeste: Minas Gerais e Rio de Janeiro
Leste: Oceano Atlntico
Sul: Paran
Oeste: Mato Groso do Sul
Com uma populao de 36.966.527 habitantes, segundo o censo de 2000, So
Paulo tem uma rea total de 248.808,8 km, a qual divide-se em 645 cidades.
Apresenta ainda 622 quilmetros de costa martima.
Considerada por muitos uma megalpole, o estado de So Paulo formado por
muitos municpios j desenvolvidos e outros ainda em fase de desenvolvimento,
tanto populacional como economicamente.
294
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sp1.html#mapa
295
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rsp.html
296
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hsp.html
297
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/isp.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
298
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sp2.html#governo
Governo
Governador: Geraldo Alckmin
Vice-governador: Cludio Lembo
Palcio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4500
CEP: 05.698-900
Fone: (0xx11) 3745-3344
Secretaria de Estado da Administrao Penitenciria
Nagashi Furukawa (secretrio)
Av. So Joo, 1247 - 10 andar
CEP: 01.035-100
Fone: (0xx11) 3315-4700
Fax: (0xx11) 33.15-4713
E-mail: secret@admpenitenciaria.sp.gov.br
Site: www.admpenitenciaria.sp.gov.br
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento
Antonio Duarte Nogueira Jnior (secretrio)
Av. Miguel Stefano, 3900
CEP: 04.301-903
Fone: (0xx11) 5073-3439
E-mail: secretaria@agricultura.sp.gov.br
Site: www.agricultura.sp.gov.br
Secretaria de Estado da Cincia, Tecnologia, Desenvolvimento Econmico e
Turismo
Joo Carlos de Souza Meirelles (secretrio)
Av. Rio Branco, 1269
CEP: 01.205-903
Fone: (0xx11) 3331-0033
Fax: (0xx11) 221-9855
E-mail: secretaria@ciencia.sp.gov.br
Site: www.ciencia.sp.gov.br
Secretaria de Estado de Comunicao
Joo Mello Neto (secretrio)
Av. Morumbi, 4500 2 andar
CEP: 05.698-900
Fone: (0xx11) 3745-3449
Fax: (0xx11) 3745-3570
Secretaria de Estado da Cultura
Cludia Costin (secretria)
Rua Mau, 51 1 andar - Luz
299
CEP: 1028-900
Fone: (0xx11) 3351-8174
Fax: (0xx11) 221-2158
E-mail: secretario@cultura.sp.gov.br
Site: www.cultura.sp.gov.br
Secretaria de Estado de Assistncia e Desenvolvimento Social
Maria Helena Guimares de Castro (secretria)
Rua Bela Cintra, 1032 11 andar
CEP: 01.451-000
Fone: (0xx11) 3218-3000
E-mail: desenvolvimentosocial@sp.gov.br
Site: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
Andrea Calabi (secretrio)
Rua Iguatemi, 107 12 andar
CEP: 01.451-001
Fone: (0xx11) 3168-5544
E-mail: sep@planejamento.sp.gov.br
Site: www.planejamento.sp.gov.br
Secretaria de Estado da Educao
Gabriel Chalita (secretrio)
Praa da Repblica, 53
CEP: 01.045-903
Fone: (0xx11) 3218-2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004
E-mail: info@educacao.sp.gov.br
Site: www.educacao.sp.gov.br
Secretaria de Estado de Energia
Mauro Arce (secretrio)
Rua Bela Cintra, 847 - 10 andar
CEP: 01.415-000
Fone: (0xx11) 3138-7000
E-mail: energia@sp.gov.br
Site: www.energia.sp.gov.br
Secretaria de Estado da Fazenda
Eduardo Refinetti Guardia (secretrio)
Av. Rangel Pestana, 300
CEP: 01.091-900
Fone: (0xx11) 310-7706 / 7062
Fax: (0xx11) 3241-1424
Site: www.fazenda.sp.gov.br
Secretaria de Estado da Habitao
Barjas Negri (secretrio)
Av. Brig. Faria Lima, 533
CEP: 01.451-901
Fone: (0xx11) 3168-7189
300
Secretaria de Estado da Justia e Defesa da Cidadania
Alexandre de Moraes (secretrio)
Ptio do Colgio, 148 e 184
CEP: 01.016-040
PABX: (0xx11) 3291-2600
Site: www.justica.sp.gov.br
Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer
Lars Schmidt Grael (secretrio)
Praa Antonio Prado, 9
CEP: 01.010-904
Fone: (0xx11) 239-5822
Fax: (0xx11) 3107-8767
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Jos Goldemberg (secretrio)
Av. Prof. Frederico Hermann Jnior, 345
CEP: 05.489-900
Fone: (0xx11) 3030-6180
Fax: (0xx11) 3030-6177
E-mail: ouvidoria@ambiente.sp.gov.br
Site: www.ambiente.sp.gov.br
Secretaria de Estado de Recursos Hdricos, Saneamento e Obras
Mauro Arce (secretrio)
Rua Butant, 285 10 andar
CEP: 01.007-000
Fone: (0xx11) 3819-5762
Fax: (0xx11) 3097-8989
E-mail: corhi@recursoshidricos.sp.gov.br
Site: www.recursoshidricos.sp.gov.br
Secretaria de Estado da Sade
Luiz Roberto Barradas Barata (secretrio)
Av. Dr. Enas de Carvalho Aguiar, 188
CEP: 05.403-000
Site: www.sade.sp.gov.br
Secretaria de Estado da Segurana Pblica
Saulo de Castro Abreu Filho (secretrio)
Rua Lbero Badar, 39
CEP: 01.009-000
Site: www.ssp.gov.br
Secretaria de Estado do Emprego e Relaes do Trabalho
Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (secretrio)
Av. Anglica, 2582 - 12 andar
CEP: 01.228-200
Fone: (0xx11) 3311-1000
Fax: (0xx11) 3311-1128
E-mail: emprego@sp.gov.br
Site: www.emprego.sp.gov.br
301
Secretaria de Estado dos Transportes
Dario Rais Lopes (secretrio)
E-mail: transportes@sectran.sp.gov.br
Site: www.sectran.sp.gov.br
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes (secretrio)
Av. Paulista, 402
CEP: 01.310-903
E-mail: fale@stm.sp.gov.br
Site: www.stm.sp.gov.br
rgos Ambientais
- CETESB: Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental
www.cetesb.sp.gov.br
- Fundao para a Conservao e a Produo Florestal do Estado de So Paulo
www.fflorestal.sp.gov.br
- Instituto de Botnica
www.ibot.sp.gov.br
- Instituto Geolgico
www. igeologico.sp.gov.br
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sp3.html#projetos
Projetos e Programas Ambientais
Apresentam-se abaixo alguns dos programas ambientais desenvolvidos no Estado
de So Paulo. Existem outros, nos mais diversos segmentos, resduos, guas etc.
Para maiores informaes sobre estes e outros programas indicamos que sejam
acessados os sites dos rgos ambientais parceiros do governo.
Repovoamento do Palmiteiro Juara
As aes de repovoamento do palmiteiro juara fazem parte do esforo para
regularizar a explorao desse recurso florestal na regio do Vale do Ribeira,
principalmente no entorno dos Parques Estaduais Intervales e Carlos Botelho,
unidades de conservao que sofrem uma forte presso pela ao clandestina de
palmiteiros.
Com o fomento produo e ao plantio de mudas junto a pequenos agricultores
familiares e comunidades tradicionais, esto sendo criadas as condies para o
manejo de rendimento sustentvel desse importante recurso florestal da Mata
Atlntica.
302
No entorno do Parque Estadual Intervales
A atuao da Fundao Florestal com populaes do entorno do Parque Estadual
Intervales teve incio na elaborao do Plano de Gesto Ambiental dessa unidade de
conservao quando de sua recm-criao em 8 de junho de 1995.
As comunidades beneficiadas pelas aes de repovoamento com palmiteiro juara
so:
Quilombo de Pedro Cubas: De sua rea total de 3.730,15 hectares, 145,20
hectares de floresta tiveram semeaduras a lano de juara durante dois anos
consecutivos, 1998 e 1999. A iniciativa pioneira de semeadura a lano foi realizada
por grupo dessa comunidade, mediante proposta da Fundao Florestal como
abordagem sobre o interesse e disponibilidade para este tipo de ao, ainda em
1997. Nos anos seguintes, foi realizada a semeadura nesses 145,20 hectares em
parceria com a Mitra Diocesana de Registro e Fundao Palmares. H necessidade
de continuidade de repovoamento deste tipo por mais trs anos.
Quilombo de Andr Lopes: Possui viveiro de 200 m2, instalado em 1999, com
capacidade para produo de at 20 mil mudas/ano. A primeira produo atingiu
5.000 mudas, cuja venda renovou o interesse no viveiro, que passou a produzir
outras espcies nativas florestais, que apresentam mais facilidade de
comercializao. A atividade do viveiro, neste caso, tem sua importncia para a
comunidade muito mais como alternativa de renda imediata do que para recuperar a
populao de juara pela tcnica de plantio com mudas. No entanto, existe interesse
no repovoamento de reas por meio da semeadura a lano. O viveiro instalado teve
o seu material adquirido pela parceria com a Mitra Diocesana de Registro e
Fundao Palmares.
Quilombo Ivaporunduva: Promoveu repovoamento de juara em 80 hectares com
semeadura a lano, nos anos de 1998 e 1999. O viveiro de 180 m2 teve a sua
implantao iniciada em 2000 (abril) e para a concluso necessita da instalao de
irrigao e cobertura para substrato. Para a obteno de algum rendimento mais
imediato para os participantes e Associao, est prevista a capacitao para
produo de mudas de outros tipos de espcies nativas. O trabalho realizado teve
como parceiras a Mitra Diocesana de Registro, a Fundao Palmares e a Fundao
Itesp.
Quilombo So Pedro: Promoveu repovoamento de juara em 70 hectares com
semeadura a lano, nos anos de 1998 e 1999, por meio da parceria com a Mitra
Diocesana de Registro e Fundao Palmares. Definiram-se pelo repovoamento na
tcnica de semeadura a lano, por avaliarem-na como a mais apropriada para a
situao de suas reas.
Quilombo Galvo: Devido proximidade de territrio com o Quilombo So Pedro e
mesmo por compartilharem aes e desenvolverem trabalhos conjuntos, definiram-
se tambm pelo repovoamento com sementes. Esto escolhendo rea de
aproximadamente 70 hectares para incio do repovoamento.
303
Quilombo Nhunguara: Possui viveiro de 200 m2, instalado em 2000, com
capacidade para produo de at 20.000 mudas/ano. A primeira produo, em meio
a todas as atividades de instalao do viveiro, alcanou 7.000 mudas. Constituiu-se
grupo inicial de 16 famlias que participam ativamente das atividades do viveiro.
Esse trabalho conta com a parceria da Fundao Itesp e Prefeitura de Iporanga.
Quilombo Maria Rosa: No ano 2000, a comunidade instalou viveiro de 200 m2 e
produziu cerca de 5.000 mudas. Os quilombolas tambm definiram a rea para o
iniciar o repovoamento com sementes. A Fundao Itesp parceira neste projeto.
Quilombo Piles: No ano de 1999, a comunidade iniciou o repovoamento de juara
em rea de 70 hectares. Pretende repetir por mais quatro anos consecutivos a
atividade e promover a recuperao desse local.
No entorno do Parque Estadual de Carlos Botelho
As aes de repovoamento do palmiteiro juara no entorno do Parque Estadual
Carlos Botelho ocorrem no Bairro Rio Preto, municpio de Sete Barras e tiveram
incio em 1997.
Os moradores do bairro promovem o repovoamento de pequenas propriedades e
posses para o manejo sustentado em futuro prximo. Com a comercializao do
excedente das mudas produzidas obtm rendimento imediato.
Total de mudas produzidas entre 1998 e 2002:
Ano Produo de Mudas
1998/1999 15.000
1999/2000 13.500
2000/2001 6.011
2001/2002 7.500
Total 36.011
Principais resultados alcanados:
Estimativa de rea total repovoada: 140 hectares.
A aproximao dos moradores do bairro com os funcionrios e a administrao do
Parque estabeleceu uma melhora dessa relao de vizinhana, antes marcada por
conflitos.
Capacitao de moradores para produzir mudas de palmito juara, com
possibilidade de diversificar tal produo com outras espcies nativas.
Possibilidade de novo avano a partir da adeso de mdios e grandes proprietrios
do bairro, adquirindo as mudas e at contratando o servio do plantio junto aos
pequenos agricultores envolvidos no projeto.
304
Iniciativas de semeadura a lano para o repovoamento do juara comeam a
ocorrer e indicam postura positiva dos beneficirios nas normas legais e
possibilidade do retorno econmico concreto diante do crescimento das mudas
plantadas ainda em 1998 e 1999.
Reconhecimento dos impactos positivos do projeto tanto pelas visitas, matrias
jornalsticas e reportagens de televiso, como pelo apoio financeiro conseguido em
fins de 2001 junto ao Consulado Britnico para aumento da capacidade de
produo, capacitao dos beneficirios para o manejo e comercializao de
espcies nativas.
Parceiros
Mitra Diocesana de Registro
Fundao Palmares
Fundao Instituto de Terras do Estado de So Paulo
Prefeitura de Iporanga.
Contatos
Fundao Florestal
Wagner Gomes Portilho
Fbio Marques de Oliveira
Av. Clara Gianotti de Souza, 1139 - Centro
11.900-000 - Registro, SP
e-mail: recursosflorestais@hotmail.com
Fonte: Fundao Florestal (http://www.fflorestal.sp.gov.br)
Mesa Redonda de Produo Mais Limpa
Viso
Tornar a Produo Mais Limpa um instrumento importante para a produo e o
consumo sustentveis de bens e servios.
Misso
Contribuir para o aumento da satisfao de todas as partes interessadas da
sociedade, atravs do uso das estratgias e meios proporcionados pela Produo
Mais Limpa, melhorando as relaes entre desenvolvimento econmico, sade
pblica e ambiental.
Objetivos
:: Difundir o modelo e os conceitos de Produo Mais Limpa a todas as partes
interessadas;
:: Promover iniciativas para que as organizaes ultrapassem o modelo de fim-de-
tubo;
:: Estimular a gerao, o acesso e a troca de informaes sobre Produo Mais
Limpa;
:: Atuar como ponto focal para a implantao de anlise de ciclo de vida, melhoria da
ecoeficincia, atuao e comunicao scio-ambiental responsveis;
305
:: Estimular o dilogo e a cooperao entre as partes interessadas para definir
agendas comuns;
:: Atuar como frum de fomento e articulao das aes de Produo Mais Limpa
nas instituies e na sociedade paulista;
:: Promover o desenvolvimento e fomentar o uso de indicadores scio-ambientais
responsveis.
Natureza e Representao
Frum sem fins lucrativos, de mbito multi-setorial, com participao aberta e
voluntria, conduzida por pessoas que possam expressar, traduzir ou representar
interesses, expectativas e necessidades das diversas partes interessadas,
envolvendo, entre outros:
1. setores produtivos empresariais - indstria, agricultura, minerao, comrcio,
servios, etc.;
2. governo - municipal, estadual, federal;
3. ensino e pesquisa - universidades, centros e institutos de pesquisa, pblicos ou
privados;
4. terceiro setor - organizaes no governamentais, representantes de interesses
sociais e institucionais;
5. cidados.
Conceitos
Os conceitos adotados pela Mesa Redonda Paulista de P+L so os seguintes:
Produo + Limpa (P+L) a aplicao contnua de uma estratgia ambiental
preventiva integrada aos processos, produtos e servios para aumentar a eco-
eficincia e evitar ou reduzir os danos ao homem e ao ambiente. Aplica-se a:
Processos Produtivos: conservao de matrias-primas e energia, eliminao de
matrias txicas e reduo da quantidade e toxicidade dos resduos e emisses;
Produtos: reduo dos impactos negativos ao longo do ciclo de vida de um produto
desde a extrao das matrias-primas at sua disposio final;
Servios: incorporao de preocupaes ambientais no planejamento e entrega dos
servios.
Preveno Poluio (P2), definida como a utilizao de processos, prticas,
materiais, produtos ou energia que evitem ou minimizem a gerao de poluentes e
resduos na fonte (reduo na fonte) e reduzam os riscos globais para a sade
humana e para o meio ambiente.
(fonte: USEPA)
306
Princpio da Precauo aplicado para fornecer uma base para a definio de
polticas relacionadas a sistemas complexos que no sejam ainda completamente
compreendidos e cujas consequncias e incmodos ainda no possam ser
antecipados. A complexidade da questo recomenda o reconhecimento do direito
das comunidades de definirem o risco aceitvel, a necessidade de uma abordagem
estruturada considerando avaliao, gerenciamento e comunicao do risco, a
necessidade de avaliao cientfica to completa quanto possvel e o
reconhecimento, por parte dos tomadores de deciso, das incertezas inerentes
informao cientfica gerada. Quando uma ao se fizer necessria, as medidas
baseadas no princpio da precauo devero:
:: ser proporcionais ao nvel desejado de proteo;
:: ser no-discriminatrias em sua forma de aplicao;
:: ser consistentes com medidas similares j adotadas;
:: estar baseadas no exame dos benefcios potenciais e custos da ao ou falta da
ao (incluindo, quando apropriado, anlise de custo-benefcio);
:: estar sujeitas reviso, luz de novos conhecimentos cientficos, e
:: ser capazes de atribuir responsabilidade quanto produo das evidncias
cientficas necessrias para uma avaliao de risco mais abrangente.
(fontes: Agenda 21, Declarao da Comisso Europia, de 02/2000)
Fatores de Sucesso
A consolidao do modelo e conceitos P+L implica em:
:: mudanas de atitude nas partes interessadas;
:: garantia de gerenciamento scio-ambiental responsvel;
:: polticas nacionais direcionadas para incluso da P+L: em regulamentos para
licenciamento e fiscalizao, em processos de avaliao de alternativas tecnolgicas
scio-ambientais responsveis e em incentivos legais e de mercado;
:: medidas de preveno poluio;
:: produo e divulgao pblica de informaes ambientais, sobre segurana e uso
de produtos e processos, gerao, transferncia, destinao e utilizao de
substncias perigosas e txicas;
:: aprimoramento contnuo das aes de P+L, para eliminao de poluentes, e da
aplicao do princpio da precauo.
Diretrizes
1. considerar a P+L como um princpio norteador para a poltica e a legislao
ambientais para os Governos Estadual e Municipal, na expectativa de alcanar a
sintonia de polticas pblicas afins, no nvel do Governo Federal, bem como um
componente para o planejamento estratgico das empresas e organizaes no-
governamentais;
307
2. buscar a eliminao de poluentes, atravs do aprimoramento contnuo na
aplicao da hierarquia de gerenciamento de resduos e na utilizao do princpio da
precauo;
3. trabalhar de maneira cooperativa com as partes interessadas, para mobilizar
assistncia tcnica, capacitao e aumento da competncia local, visando criar a
conscientizao para a adoo de P+L;
4. promover o desenvolvimento de parcerias para P+L entre os diferentes nveis de
governo, sociedade civil e os vrios setores produtivos;
5. motivar o uso de ndices e indicadores de desempenho com base ambiental para
avaliar o progresso e demonstrar e disseminar informao sobre a eficcia de P+L;
6. motivar a divulgao pblica de informaes sobre a segurana, utilizao e
lanamento de substncias txicas e perigosas;
7. considerar a importncia dos indicadores de medio da produo e consumo
sustentveis de bens e servios;
8. reconhecer a importncia de programas preferenciais orientados para apoiar as
micro e pequenas empresas;
9. reconhecer a importncia das iniciativas de educao ambiental para crianas,
jovens e adultos, visando o consumo de bens e servios sustentveis, oferecidos por
organizaes com responsabilidade scio-ambiental;
10. reconhecer a importncia da formao e treinamento - em vrios nveis de
capacitao - em estratgias, servios e tecnologias, no mbito da P+L;
11. reconhecer a importncia das presses sociais, de iniciativas voluntrias e da
legislao / fiscalizao como instrumentos de motivao para o aprimoramento da
produo e consumo sustentveis de bens e servios;
12. reconhecer a importncia da incluso dos objetivos de P+L nos programas de
regulamentao e fiscalizao;
13. reconhecer a necessidade de propor incentivos legais e de mercado para P+L;
14. reconhecer a importncia da incluso da P+L nas diretrizes e linhas de
financiamento nacionais e internacionais;
15. reconhecer a importncia das iniciativas nacionais e internacionais de P+L;
16. reconhecer a P+L como estratgia importante para atender conformidade,
acordos voluntrios e outros internacionais, vinculantes e no vinculantes;
17. reconhecer a importncia da organizao que incentive a incorporao de P+L
nas demais organizaes de sua cadeia de atuao, incluindo, mas no se
limitando, a programas de compras ambientalmente responsveis.
Linhas de Ao
As iniciativas a serem contempladas pela Mesa Redonda Paulista de P+L envolvem
a criao, manuteno e consumo de bens e servios, e as aes voltadas para
atender a Misso, os Objetivos e os Termos de Referncia da Mesa:
308
:: Divulgao de informaes, atravs de noticirio informativo, lista- eletrnica,
publicaes tcnicas, pgina (site) institucional para divulgao, acesso a
informaes na rede internet e articulao das partes interessadas, entre outras;
:: Promoo de conferncias, encontros, seminrios e outros eventos;
:: Apoio organizao de grupos de estudos ou de trabalho para temas
selecionados;
:: Apoio a projetos especficos tais como:
1. Cadastro de competncias, para cooperao e articulao oferta e demanda,
entre as partes interessadas;
2. Articulao interorganizacional e interpessoal, de mbito local, nacional e
internacional, para iniciativas de produo e consumo sustentveis de bens e
servios;
3. Apoio institucional a grupos de pesquisa e desenvolvimento para inovaes e
criao de estratgias scio-ambientais responsveis;
4. Formulao de polticas pblicas e criao de incentivos (pblicos e de mercado)
para a expanso e incluso do modelo e conceitos de P+L nas organizaes do
Estado de So Paulo;
5. Desenvolvimento de indicadores scio-ambientais e de iniciativas para avaliar e
classificar as organizaes locais, em harmonizao a procedimentos adotados por
organizaes de mbito internacional;
6. Desenvolvimento de ferramentas apropriadas produo e consumo sustentveis
de bens e servios com destaque para: contabilizao ambiental, softwares,
harmonizao de bancos de dados, etc.;
7. Sinergia entre os setores produtivos, apoio a programas voluntrios de consumo
eficiente de gua e energia e poupana de recursos;
8. Mecanismos inovadores de financiamento para P+L;
9. Articulao a iniciativas similares s da Mesa Redonda Paulista de P+L;
10. Criao de oportunidades e identificao de fontes para cooperao
internacional;
11. Identificao de lacunas e estratgias para abordagem de temas e soluo de
problemas relevantes para produo e consumo sustentveis de bens e servios
com base no modelo e conceitos de P+L.
309
Comit de Instalao
O Comit de Instalao foi constitudo com as tarefas de:
1. organizar a Primeira Conferncia Paulista de Produo +Limpa
2. definir o Regulamento da Mesa Redonda
3. organizar o Primeiro Comit Diretivo e Secretaria executiva da Mesa Redonda e
apoiar o frum em seus primeiros passos
Comit de Instalao:
Representantes do Setor Produtivo:
Mrio Hirose - Centro de Produo +Limpa SENAI/SECO -
hirosem@comexport.com.br
Martim Afonso Penna/ Gilberto Marronato - ABICLOR Associao Brasileira da
Indstria de lcalis, Cloro e Derivados - marronato@uol.com.br
mpenna@abiclor.com.br
Representantes do Governo:
Tnia Mara Tavares Gasi - CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental - taniag@cetesb.sp.gov.br
Darcy Brega Filho - SABESP - Companhia de Saneamento Bsico do Estado de So
Paulo - dbf@sabesp.com.br
Representantes das Instituies de Ensino e Pesquisa:Gil Anderi da Silva -
POLI/USP - Escola Politcnica da Universidade de So Paulo - gil.silva@poli.usp.br
Jos Maria Milani - SENAI/SP - Servio Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de So Paulo - meioambiente@sp.senai.br
Representantes da Sociedade Civil:
Maria Emlia Cardoso Gadelha - INSTITUTO RECICLE Instituto
Recicle Milhes de Vidas - reciclemvidas@uol.com.br
Eduardo Raccioppi - ARUANDA AMBIENTE - Instituto Aruandista de Pesquisas e
Desenvolvimento - aruanda@zaz.com.br
Elie Politi - eliepoliti@uol.com.br
Fonte: http://www.mesaproducaomaislimpa.sp.gov.br
Geomorfologia e Relevo
O territrio paulista dominado quase que totalmente pelo planalto, estando assim
distribudo:
7% da superfcie acima de 900m
85% da superfcie entre 300 e 900m
310
8% da superfcie abaixo de 300m
A observao de leste para oeste (sentido mar-interior) possibilita a visualizao de
cinco distintas unidades morfolgicas, as quais, apresentam caractersticas prprias
para a regio em que esto situadas e consequentemente, desenvolvem vegetao
tpica.
Plancie Litornea
Compreende estreita faixa entre a Serra do Mar e o oceano podendo apresentar
largura varivel em determinados pontos. Constitui-se de terrenos sedimentares
onde esto localizadas a Baixada Santista e a Ribeira do Iguape.
Serra do Mar
Trata-se de uma rea montanhosa separando naturalmente a plancie litornea do
planalto. composta por duas sees.
Primeira, de Santos at a divisa com o Rio de Janeiro onde cai verticalmente sobre a
plancie ou o mar.
Segunda, de Santos at a divisa com o Paran onde apresenta vales estreitos e
cristas montanhosas resultantes da eroso do rio Ribeira do Iguape e seus
afluentes.
Planalto Cristalino
Tem incio na poro oeste da Serra do Mar com aproximadamente 1.000m de
altitude; a medida que avana interior adentro a altitude decai gradativamente. Como
o prprio nome j diz (planalto cristalino), formado por antigas rochas cristalinas
apresentando tambm depresses com rochas sedimentares ainda recentes ali
depositadas originando cidades importantes como So Paulo e o Vale do Paraba do
Sul.
Localizadas ao Norte esto a Serra da Mantiqueira (1.200m), a Serra de Campos do
Jordo e o macio de Itatiaia, ambos com mais de 2.000 metros.
Depresso Perifrica
Apresenta relevo suavemente ondulado com altitudes variveis entre 600 e 800m
sendo constitudo por rochas sedimentares antigas. A Serra Geral, representante
desta unidade geomorfolgica, tem incio na poro oeste vindo a prolongar-se at o
Rio Grande do Sul.
Planalto Ocidental
Ocupa cerca de 50% do territrio estadual, estendendo-se a partir da Serra de
Botucatu; de todas as unidades geomorfolgicas paulistas esta a mais extensa.
Suavemente declinada no sentido leste-oeste suas altitudes variam de 700 a 300m
caracterizado por um solo rico em terra roxa.
O ponto mais elevado relacionado ao relevo paulista a Pedra da Mina, localizada
na Serra da Mantiqueira com 2.770 metros de altitude.
311
Clima, Hidrografia e Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sp4.html#clima
Clima
Variando de acordo com o relevo, quatro tipos climticos esto presentes no Estado,
tropical supermido, tropical de altitude, tropical quente e mido e subtropical mido.
Tropical supermido (Aw): ocorre na baixada litornea e encostas da Serra do
Mar. Temperaturas oscilantes entre 20 e 22C com chuvas abundantes,
principalmente em Santos (Itapanha) onde registra-se o mais alto ndice de chuvas
do pas, 4.154mm/ano.
Tropical de altitude (Cwa): a maior parte do planalto est localizada sob este clima,
caracterizado por invernos secos e veres chuvosos onde as mdias de temperatura
podem ultrapassar a casa dos 20C. J em regies montanhosas como o caso dos
macios de Itatiaia e Campos do Jordo, a temperatura decresce a 14C.
Tropical quente e mido (As): naturalmente encontrado na regio noroeste do
Estado suas temperaturas esto registradas na casa dos 24C (prximo dos rios
Grande e Paran) diminuindo ou aumentando de acordo com as altitudes. O ndice
pluviomtrico varivel entre 1.000 e 1.250mm/ano.
Subtropical mido (Cfa): predominante na regio sul do Estado com temperaturas
entre 18 e 20C. Os veres so quentes e, as chuvas bem distribudas ao longo do
ano, resultando em um ndice pluviomtrico de 1.500mm.
Hidrografia
A mais importante bacia do Estado, a do rio Paran, responsvel pelo potencial
hidreltrico da regio e conseqentemente pela energia produzida.
Alguns rios desta bacia destacam-se, como por exemplo, o Paran - limita So
Paulo e Mato Grosso do Sul e afluentes como: Paranapanema, Peixes, Tiet e
Aguape (margem esquerda). O rio Grande se faz presente em parte da divisa entre
So Paulo e Minas Gerais. Outros dois rios, o Paraba do Sul e o Ribeira do Iguape,
ambos seguindo em direo ao Atlntico. O primeiro nasce em So Paulo e tem boa
parte de seus cursos correndo em territrio fluminense e mineiro; o seguinte, Ribeira
do Iguape, forma a baixada litornea aps cortar transversalmente a Serra do Mar.
As vrias quedas d'gua, resultantes do perfil acidentado propiciam ao estado a
possibilidade de expanso no campo da produo de energia eltrica.
312
Turismo
Conhecido, tanto nacionalmente como internacionalmente pelo seu potencial de
trabalho, negcios e desenvolvimento econmico, So Paulo busca valorizar ainda
seu lado cultural e turstico. Capital, interior e litoral apresentam atrativos
caractersticos.
Capital
Movimentada por si s, tm vida cultural e artstica intensa, complementada pelo
turismo de negcios que realiza cerca de 45 mil eventos por ano. Apesar de alguns
aspectos particulares como a garoa, o trabalho e as construes de concreto, So
Paulo tambm conta com parques, monumentos histricos, shoppings e alguns
bairros residenciais que mantm suas tradies, todos estes constituem-se pontos
tursticos.
Pontos Tursticos
Estao S do
Metr
Estao Jlio
Prestes
Pteo do Colgio Praa da S
Viaduto do Ch
Viaduto Santa
Ifignia
Vale do Anhangaba
Largo de So
Francisco
Largo de So
Bento
Edifcio Copan Edifcio Itlia Mercado Municipal
Mosteiro da Luz Estao da Luz Solar da Marquesa
Museus
Pinacoteca do
Estado
Museu de Arte
de So Paulo
Museu Paulista
Museu de Arte
Contempornea da
USP
Museu da Casa
Brasileira
Museu da
Imigrao e
Memorial do
Imigrante
Acervo do Palcio
dos Bandeirantes
Arquivo do Estado
Museu da Imagem
e do Som
Museu de Arte
Sacra
Casa das Rosas
Memorial da Amrica
Latina
Pao das Artes
Museu de
Zoologia da USP
Museu do Caf
Brasileiro
Teatros
Teatro Srgio
Cardoso
Teatro Oficina
Teatro Fernando
Azevedo
Teatro Estadual
Maestro Francisco
Paulo Russo
Auditrio Cludio
Santoro
Estao Jlio
Prestes, Sala
So Paulo
Teatro So Pedro Teatro Municipal
Parques
313
Horto Florestal
Parque Estadual
da Cantareira
Jardim Botnico Instituto Butantan
Parque do
Ibirapuera
Zoolgico Parque Alfredo Volpi Parque da Aclimao
Parque Vila Lobos
Parque do
Carmo
Parque Zo Safari
Monumentos
Monumentos s
Bandeiras
Obelisco
Mansolu aos
Heris de 32
Monumento
Independncia
Monumento a Pedro
lvares Cabral
Interior
Exceto a capital, so 644 municpios ao todo, onde predominam as matas, trilhas,
florestas, cachoeiras, cascatas, rios, estncias climticas e hidrominerais.
Turismo Ecolgico
Estao Ecolgica
Juria-Itatins
Parque Estadual da
Serra do Mar
Estao Ecolgica
de Bananal
Estao Ecolgica
dos Chaus
Parque Estadual da
Ilha do Cardoso
Parque Estadual de
Ilha Bela
Parque Estadual
Pariquera Abaixo
Parque Estadual
Intervales
Vale do Ribeira Iporanga Apia
A poro litornea do estado apresenta ao todo 622 quilmetros de costa, banhadas
pelo oceano Atlntico subdivididas em litoral norte e litoral sul.
Na poro norte esto situadas as praias de guas mais calmas, sendo algumas
pouco habitadas com reas de mata atlntica preservada. Bertioga, Ubatuba,
Caraguatatuba, So Sebastio e Ilha Bela exemplificam.
O litoral sul, por sua vez, abriga santurios ecolgicos e reas de floresta tropical
nativa, como a Estao Ecolgica Juria-Itatins. Alia cidades litorneas as belezas
naturais locais. So atrativos do litoral sul, Canania, Iguape, Ilha Comprida,
Perube, Santos, Guaruj e Praia Grande.
Outro setor que vem merecendo investimentos no estado de So Paulo, em especial
no interior, o Turismo Ecolgico. Explorao de cavernas e esportes ligados ao
meio ambiente, os chamados esportes radicais, tm atrado muitos turistas.
Explorao de Cavernas
So muitas as cavernas no estado, dentre elas a Caverna do Diabo situada no
municpio de Eldorado (248 km da capital); do total de 8.262 metros conhecidos at
hoje, permite-se a visitao segura em 700 metros. Em alguns trechos da caverna
foram necessrias obras (escadas, passarelas, pontes) para manter a segurana
dos visitantes e at mesmo a preservao das formaes minerais. No municpio de
Iporanga concentra-se o maior nmero de cavernas do Brasil, em algunas a
visitao s permitida com o acompanhamento de monitores ambientais utilizando
equipamentos especiais (capacete e equipamento de iluminao).
314
Esportes Radicais
Utilizando-se de tcnicas prprias do rapel e montanhismo, o turista encontra em
alguns municpios paulistas obstculos naturais como cachoeiras, paredes,
abismos, pontes e declives para explorar (conscientemente).
A seguir alguns locais e atrativos:
Bragana Paulista: Visual das guas (canyoning);
Guaruj: Morro do Maluf (escalada);
So Bento do Sapuca: volta-se para o turismo de aventura, ecoturismo, vo livre e
escaladas; pratica-se na Via Asterix, Falsias da Pedra da Divisa, Vias da Pedra da
Divisa e Via dos Lixeiros;
Salespolis: Via Nephila, Via Irmanos 5 e Falsia da Pedra da Represa;
Atibaia: Pedra Grande;
Mairipor: Complexo Mantiqueira Outro esporte radical que se destaca em So
Paulo o rafting, no faltando locais para sua prtica;
Juquitiba: rio Juqui e Alto Juqui;
Paraitinga: rio Paraibuna;
Brotas: rio Jacar-Pepira;
Caconde: rio Pardo;
Socorro: rio do Peixe.
Outorga e Fiscalizao de uso dos Recursos Hdricos no Estado de So Paulo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sp_aguas.html
Ser necessrio o requerimento do direito de uso da gua ao DAEE, se a atividade
executada utiliza ou vai utilizar gua, em qualquer fase de seu desenvolvimento. O
DAEE o rgo do estado de So Paulo que expede a outorga de uso e/ou
interferncia nos recursos hdricos estaduais.
Obrigao
Usos e/ou interferncias sujeitos outorga definidos na Norma da Portaria DAEE
717/96, por finalidade, quanto a sua utilizao:
Aptaes de gua e Lanamento de Efluentes Lquidos:
- INDUSTRIAL: uso em empreendimentos industriais, nos seus sistemas de
processo, refrigerao, uso sanitrio, combate a incndio e outros.
- URBANO: toda gua captada que vise, predominantemente, ao consumo humano
de ncleo urbano (sede, distritos, bairros, vilas, loteamentos, condomnios, etc...).
315
- IRRIGAO: uso em irrigao de culturas agrcolas.
- RURAL: uso em atividade rural, como aquicultura e dessedentao de animais,
exceto a irrigao.
- MINERAO: toda gua utilizada em processos de minerao, incluindo lavra de
areia.
- GERAO DE ENERGIA: toda gua utilizada para gerao de energia em
hidroeltricas, termoeltricas e outras.
- RECREAO E PAISAGISMO: uso em atividade de recreao, tais como piscinas,
lagos para pescaria e outros, bem como para composio paisagstica de
propriedades (lagos, chafarizes, etc...) e outros.
- COMRCIO E SERVIOS: usos em empreendimentos comerciais e de prestao
de servios, seja para o desenvolvimento de suas atividades, ou sanitrio (shopping
center, postos de gasolina, hotis, clubes, hospitais, etc...).
- OUTROS: uso em atividades que so se enquadram nas acima discriminadas.
Obras Hidralicas :
Barramentos destinados a:
- regularizao de nvel de gua a montante
- controle de cheias
- regularizao de vazes
- recreao e paisagismo
- gerao de energia
- aquicultura (piscicultura, ranicultura e outros)
- outros usos
Poos Profundos, podendo ser:
- tubulares
- escavados: cisterna/cacimba
- ponteiras
- outros
Canalizao, Retificao e proteo de leitos, com objetivos de:
- combate a inundaes
- controle de inundaes
- adequao urbanstica
316
- construo de obras de saneamento
- construo de sistemas virios; outros
Travessias, sobre corpos d'gua, que podem ser:
Areas:
- Pontes: podendo ser rodovias, ferrovias, rodoferrovas e passarela para pedestres.
- Linhas: compreendendo as telefnicas, telegrficas, energia eltrica (distribuio,
transmisso, subtransmisso, etc...).
- Dutos: utilizados em saneamento (transporte de gua e esgoto), combustveis
(transporte de petrleo, gasolina, gs e outros), TV a cabo.
- Outros.
Subterrneas:
- Tneis: para uso rodovirio, ferrovirio, rodoferrovirios, pedestres.
- Linhas: compreendendo as telefnicas, telegrficas, energia eltrica (distribuio,
transmisso, subtransmisso, etc...).
- Dutos: utilizados em saneamento (transporte de gua e esgoto), combustveis
(transporte de petrleo, gasolina, gs e outros) TV a cabo.
- Outros.
Intermedirias: todas as demais formas de travessia que no podem ser
classificadas nos itens anteriores.
Servios Diversos: em rios, crregos, ribeires e lagos, tais como:
- desassoreamento
- limpeza de margens
- proteo de leitos
A autorizao
O modelo de requerimento, bem como a relao dos documentos que devero
acompanh-lo, podero ser obtidos com o download da Portaria 717 de 12/12/96
(incluso anexo 19) ou nas diretorias de bacia do DEPARTAMENTO DE GUAS E
ENERGIA ELTRICA DAEE.
317
Local
A Portaria n
o
717, de 12/12/96, estabelece que os pedidos de autorizao devero
ser entregues na sede da Diretoria da Bacia do DAEE, onde se pretenda utilizar ou
derivar o recurso hdrico.
Abaixo os endereos das Diretorias das Bacias do DAEE no estado de So Paulo:
Diretoria da Bacia do Pardo Grande - BPG
Diretor: Celso Antonio Perticarrari
Rua Olinda, 150
CEP 14025-150 - Ribeiro Preto - SP
Tel. (016) 623-3926 / 623-3940 - Fax (016) 623-3940
Diretoria da bacia do Turvo-Grande BTG
Diretor: Sarita Vega Scott
Av. Otvio Pinto Cesar, 1.400
CEP 15085-360 So Jos do Rio Preto - SP
Tel. (017) 227-2108 / 227-5954 - Fax (017) 227-2108
Diretoria da Bacia do Baixo Tiet BBT
Diretor: Luprcio Ziroldo Antnio
Rua Silvares, 100
CEP 16200-000 - Birigi SP
Tel. (018) 642-3655 - Fax (018) 642-3502
Diretoria da Bacia Do Mdio-Tiet
Diretor: Rui Brasil Assis
Av. Estados Unidos, 988
CEP 13416-500 - Piracicaba - SP
Tel. (019) 434-5111 - Fax (019) 434-5575
Diretoria da bacia do Alto Tiet e Baixada Santista
Diretor: Silvio Luiz Giudice
Rua Butant n 285 - 8 andar
CEP 05424-140 - So Paulo - SP
Tel. (011) 3814-9011 ramais 2011 / 2245
Diretoria da Bacia do Ribeira e Litoral Sul
Diretor: Ney Akemaru Ikeda
Rua Felix Abi-Azar, 442
CEP 11900-000 - Registro - SP
Tel. (013) 821-3244 - Fax (013) 821-4442
Diretoria da Bacia do Peixe de Paranapanema
Diretor: Edson Geraldo Sabbag
Rua Benedito Mendes Faria, 40 - A
CEP 17520-520 - Marlia - SP
Tel. (014) 427-1017 - Fax (014) 427-1662
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sp5.html
318
Vegetao
So Paulo era recoberto em 82% de seu territrio por florestas, que aos poucos foi
sendo devastada dando espao a campos de cultivo; o que resta atualmente das
florestas primitivas, esto localizadas em encostas ngremes como Serra do Mar e
da Mantiqueira, imprprias para pastagem e agricultura.
So nestas reas, que ainda se encontram alguns remascentes da vegetao
originalmente paulista. Em reas ao longo da costa, e no rebordo do planalto
encontra-se, ainda, a Mata Atlntica ou Floresta Ombrfila Densa, caracterizada por
ser perene e bastante rica em epfitas e lianas. A pluviosidade elevada.
Em contrapartida, no interior, a pluviosidade menor. Ocorre a presena da mata
semidecdua (Floresta Estacional Semidecidual) contrastando com quela
desenvolvida em solos de arenito e de terra roxa. J nas reas da Serra da
Mantiqueira e Bocaina, os pinheiros-do-paran evidenciam floresta subtropical,
evidenciando a presena de manchas de Floresta com Araucria (Floresta Ombrfila
Mista).
Porm, nem s florestas recobrem ou recobriam o estado de So Paulo. Em regies
interioranas de planalto, 15% da superfcie eram tomadas por cerrados; a poro sul
ainda apresenta, em 1,3% do territ rio, vegetao caracterstica dos campos gerais
do Paran.
319
REGIO SUL
ESTADO DO PARAN
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/pr.html#historia
Histria, Povoamento e Colonizao
A histria do Paran e do povo paranaense pode ser contada atravs dos
vrios ciclos pelos quais passou: ouro, madeira, erva-mate e caf.
Inicialmente as terras paranaenses pertenciam Capitania de So Vicente;
eram percorridas esporadicamente, durante o sculo XVI, por europeus
exploradores da madeira de lei existente na regio. A partir do sculo XVII teve
incio a colonizao, sendo fundada a Vila de Paranagu em 1660.
Colonos e jesutas espanhis povoaram Paranagu e Curitiba nos primeiros
tempos. Com a descoberta de ouro, portugueses foram atrados para a
localidade, tanto no litoral como no interior. A posterior descoberta de ouro nas
Minas Gerais amenizou a explorao paranaense.
A passagem de tropas (gado e cavalos) vindos de Viamo para Sorocaba
propriciaram o tropeirismo no Estado. Paradas feitas durante o percurso para
pouso originavam novos povoamentos que, com o passar dos tempos
tornaram-se cidades (Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Porto Amazonas,
Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Pira do Sul, Jaguariava e Sengs).
Separada de So Paulo em 1853, criou-se a Provncia do Paran com o
estabelecimento de aproximadamente 40 ncleos coloniais, ncleos estes
originados por imigrantes italianos, alemes, poloneses, franceses, ingleses e
suos que, dedicaram-se as culturas de erva-mate, caf e explorao de
madeira impulsionando a economia local na poca.
Localizao e rea Territorial
Encontra-se no hemisfrio sul e ocidental do
Globo Terrestre, sendo cortado pelo Trpico
de Capricrnio (2327 Lat. Sul) na altura das
cidades de Arapongas e Maring, tendo de
suas terras na zona Temperada do Sul e o
restante na zona Tropical.
320
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&co
nteudo=./estadual/pr2.html
321
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rpr.html
322
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rpr.html
323
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/ipr.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
324
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pr_governo.html
Governador: Roberto Requio de Mello e Silva
Vice-governador: Orlando Pessuti
Palcio Iguau - 3o. Andar
Fone: (0xx41) 350-2400 / 350-2502
Fax: (0xx41) 350-2535 / 252-8898
Secretrio de Estado da Justia e da Cidadania
Aldo Jos Parzianello (secretrio)
Rua Incio Lustosa, 700
CEP: 80.510-000
Fone: (0xx41) 221-7200 / 221-7202
Fax: (0xx41) 232-8301
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA
Heron Arzua (secretrio)
Rua Vicente Machado, 445 - 16o. Andar
CEP: 80.420-010
Fone: (0xx41) 321-9001 / 9002 / 9000
Fax: (0xx41) 222-3505
E-mail: sefa@pr.gov.br
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU
Renato Guimares Adur (secretrio)
Edifcio Caetano Munhoz da Rocha
CEP: 80.530-913
Fone: (0xx41) 254-7244
Fax (0xx41) 254-8985
E-mail: sedu@pr.gov.br
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB
Orlando Pessuti (secretrio)
Rua dos Funcionrios, 1559
CEP: 80.035-050
Fone: (0xx41) 313-4000 / 313-4003 / 313-4004
Fax: (0xx41) 313-4021
E-mail: seab@pr.gov.br
Secretaria de Estado da Sade - SESA
Cludio Murilo Xavier (secretrio)
Rua Piquiri, 170
CEP: 80.230-140
Fone: (0xx41) 330-4300 / 4400 / 4402
Fax: (0xx41) 330-4407
E-mail: sesa@pr.gov.br
Secretaria de Estado da Educao - SEED
Mauricio Requio de Mello e Silva (secretrio)
325
Avenida gua Verde, 2140
CEP: 80.240-900
Fone: (0xx41) 342-1510 / 1511
Fax: (0xx41) 340-1519
E-mail: seed@pr.gov.br
Secretaria de Estado da Segurana Pblica
Roberto Requio de Mello e Silva
Edifcio Caetano Munhoz da Rocha
CEP: 80.530-913
Fone: (0xx41) 352-2125 / 3070 / 313-5060
Fax: (0xx41) 254-8838
Secretaria de Estado dos Transportes - SETR
Waldyr Ortncio Pugliesi (secretrio)
Av. Igua, 420 - 1o. Andar
CEP: 80.230-020
Fone: (0xx41) 304-8500 / 304-8506
Fax: (0xx41) 322-9521
E-mail: setr@pr.gov.br
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenao-Geral
Eleonora Bonato Fruet (secretria)
Rua Mximo Joo Kopp, 274 - Bloco I
CEP: 82.630-900
Fone: (0xx41) 351-6270 / 6271
Fax: (0xx41) 351-6333 / 6809
E-mail: selp@pr.gov.br
Secretaria de Estado da Cincia,Tecnologia e Ensino Superior - SETI
Aldair Tarcsio Rizzi (secretrio)
Rua Mximo Joo Kopp, 274 Bl. III
CEP: 82.630-090
Fone: (0xx41) 3028-7304 / 3028-7305
Fax: (0xx41) 3028-7662
E-mail: secretaria@seti.gov.br
Secretaria de Estado da Administrao e da Previdncia - SEAP
Reinhold Stephanes (secretrio)
Rua Mximo Joo Kopp, 274 Bloco II B
CEP: 82.630-900
Fone: (0xx41) 351-6000 / 6151
Fax: (0xx41) 351-6171
Secretaria de Estado da Cultura - SEEC
Vera Maria Haj Mussi Augusto (secretria)
Rua bano Pereira, 240
CEP: 80.410-903
Fone: (0xx41) 321-4700 / 4705
Fax: (0xx41) 321-4708
E-mail: seec@pr.gov.br
326
Secretaria de Estado da Comunicao Social - SECS
Airton Carlos Pissetti (secretrio)
Palcio Iguau - Centro Cvico
CEP: 80.530-909
Fone: (0xx41) 350-2645 / 2556 / 2643
Fax: (0xx41) 254-5196
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hdricos - SEMA
Luiz Eduardo Cheida (secretrio)
Rua Desembargador Motta, 3384
CEP: 80.430-200
Fone: (0xx41) 224-1864 / 322-1611 / 223-1022
Fax: (0xx41) 225-6454
E-mail: sema@pr.gov.br
Secretaria de Estado do Turismo
Jos Cludio Rorato (secretrio)
Rua Deputado Mrio de Barros, 1290 - 3o. Andar
CEP: 80.530-913
Fone: (0xx41) 254-6933 / 7372
Fax: (0xx41) 253-0882
Secretaria de Estado da Indstria, do Comrcio e Assuntos do Mercosul
Luis Guilherme Gomes Mussi (secretrio)
Rua Mximo Joo Kopp, 274 - Bloco III
CEP: 82.630-900
Fone: (0xx41) 3028-7600 / 3028-7601
Fax: (0xx41) 3028-7662
E-mail: seid@pr.gov.br
Secretaria de Estado de Obras Pblicas - SEOP
Luiz Dernizo Caron (secretrio)
Rua Pedro Ivo, 386
CEP: 80.010-140
Fone: (0xx41) 323-4325 / 322-6226
Fax: (0xx41) 225-6360 / 222-5576
E-mail: seop@pr.gov.br
Secretaria de Estado do Emprego, Trabalho e Promoo Social
Pe. Roque Zimermann (secretrio)
Rua Pedro Ivo, 750 - 4o. Andar
CEP: 80.010-020
Fone: (0xx41) 232-1083 / 233-6972
Fax: (0xx41) 322-2740
Secretaria Especial para Assuntos Estratgicos
Nizan Pereira Almeida (secretrio)
Rua Deputado Mrio de Barros, 1556
CEP: 80.530-280
Fone: (0xx41) 350-1212 / 1270 / 1275
Fax: (0xx41) 350-1296
327
Secretaria Especial da Corregedoria e Ouvidoria-Geral
Luiz Carlos Delazari (secretrio)
Rua bano Pereira, 240
CEP: 80.410-903
Fone: (0xx41) 321-4700 / 4710
Fax: (0xx41) 321-4708
Secretaria Especial para Assuntos da Regio Metropolitana
Edson Luiz Strapasson (secretrio)
Rua Mximo Joo Kopp, 274 - Bloco III
CEP: 82.630-900
Fone: (0xx41) 351-6000 / 6525 / 6501
Fax: (0xx41) 351-6502
Secretrio Especial de Relaes com a Comunidade
Milton Buabssi (secretrio)
Rua Deputado Mrio de Barros, 1556
CEP: 80-530-280
Fone: (0xx41) 350-1273 / 1266 / 1294
Fax: (0xx41) 350-1294
rgos Ambientais
- Autarquia do Meio Ambiente
- Comisso de Solos e Meio Ambiente de Cafelndia
- Comisso Especial de Agricultura e Meio Ambiente - CEAMA
- Conselho Municipal de Agropecuria e Meio Ambiente de Santa Terezinha de
Itaipu COMAM
- Delegacia de Polcia de Proteo ao Meio Ambiente - DPMA
- Departamento de Meio Ambiente - DEMA
- Instituto Ambiental do Paran - IAP
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
- Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional - IPHAN
- Procuradoria da Repblica do Estado do Paran PR/PR
- Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paran - SEDU
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA
- Superintendncia de Desenvolvimento de Recursos Hdricos e Saneamento
Ambiental - SUDERHSA
- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA
328
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pr8.html
Os programas abaixo disponibilizados referem-se a gesto 2003/2006, os quais
sero desenvolvidos ao longo do perodo. Tratam-se de releases, j que a ntegra
dos mesmos esto em fase de finalizao.
Zoneamento Ecolgico-Econmico do Estado
O mercado tem uma lgica prpria, que no a lgica do desenvolvimento
equilibrado. A economia, para viabilizar-se, avana sobre o mundo natural. Essa a
nica regra. Ao implement-la, o mercado quebra a lgica ambiental, pois no leva
em conta a finitude dos recursos naturais, a capacidade suporte da localidade, o
equilibrio milenar das cadeias e teias ambientais envolvidas, a fragilidade dos
componentes vitais dos ecossistemas e tantas outras leis naturais. A economia
uma inveno humana; o homem uma inveno da natureza. Assim, como a
economia no natural, estamos diante da seguinte equao: como crescer sem
destruir? Como compatibilizar crescimento econmico e equilbrio ambiental? Essa
a equao que se coloca para a humanidade. Como a humanidade pode crescer
poupando os sistemas ambientais? No s preservar, mas tambm melhorar o que
ao longo da humanidade se destruiu.
O ZEE uma determinao federal e os estados devem faz-lo. Mas, no h regras.
Ento, imaginamos que o ZEE no deva ser apenas um inventrio do ambiente
natural, como uma fotografia. Ele ser mais que isso: ser um raio X do meio fsico
(solo, sub-solo, gua, ar, temperatura, salinidade, presso, luminosidade, velocidade
dos ventos, clima, etc), um raio X do meio biolgico (biodiversidade) e o raio X
socio-econmico. Esse verdadeiro trip (componentes social, fsico e biolgico)
ser trabalhado, em sua verdadeira dinmica, durante um ano e meio, objetivando
disciplinar as atividades humanas e os ambientes naturais. O Dr. Carlos Hirata,
coordenador de Gesto Territorial da Secretaria de Meio Ambiente, vai coordenar o
ZEE, junto com o Ipardes e diversas instituies e entidades pblicas e privadas.
Eles iro tentar responder a questes como: que tipo de atividade agrcola comporta
os Campos Gerais? Como vamos tratar o centro-sul do Paran, entendendo que l
tem a indstria madereira-papeleira, mas tem que ter o mate, a agricultura familiar e,
principalmente, a floresta de Araucria em p? Como vamos tratar o entorno do
Parque Nacional do Iguau, que um dos ltimos representantes de nossa mata
original? Quais as atividades humanas que se deve permitir em locais como esse? O
ZEE ser transformado em lei, para que no s discipline a ordenao territorial,
mas garanta a promoo de um estado ambientalmente equilibrado.
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hdricos
Governo do Estado do Paran
329
Municpio Verde
O segundo programa o Municpio Verde. Corresponde a todas as aes no
mbito de cada municpio, como as aes de saneamento ambiental, exemplo do
da coleta e acondicionamento do lixo (principalmente a reduo da produo, porque
essa a lgica correta e, para isso estamos estabelecendo metas de quantos por
cento vamos reduzir no estado do Paran e em tantos anos), esgoto tratado, a gua,
drenagens e o controle de vetores, sem esquecermos que h outros problemas
ambientais, como poluio sonora, a poluio visual, atmosfrica, deficincia na
arborizao, entre outras.
Entretanto, queremos que estas aes culminem em um protocolo onde possamos
certificar o municpio. O municpio dever obedecer determinados padres de
comportamento para ser certificado. Quanto mais pontuao tiver, mais acesso ter
a recursos pblicos; mais acesso aos recursos do Fundo Estadual do Meio
Ambiente, por exemplo. Voc pode perguntar: mas voc est querendo que o
prefeito faa o que a Secretaria de Meio Ambiente quer que ele faa? No! No o
prefeito no obrigado a fazer o que queremos. Mas ns tambm no somos
obrigados a dar dinheiro para ele fazer o que ele quer! Queremos que o prefeito e a
prpria sociedade tenha outra lgica. Por exemplo: um municpio recebe R$ 1 milho
de ICMS ecolgico e tem um lixo a cu aberto, esgoto sendo despejado nos rios.
Apesar disso, faz com estes recursos, um coreto no centro da cidade. O lixo e o
esgoto continuam destratados... Mas, se ele estiver tratando adequadamente o lixo,
investindo um esgoto, tentando coibir a poluio sonora, enfim, trabalhando em
aes ambientais propositivas, ser certificado. Quanto mais fizer isso, mais
recursos receber; mais sinergia ter para que trabalhe a favor, e no contra o
ambiente natural.
Esse selo ambiental no deve ser dado pela Secretaria. Esta certificao ter um
padro estabelecido, isento, claro e universal. Que seja absolutamente isenta a
certificao, para que no haja benefcios polticos diretos ou indiretos. Para que no
haja preferncia, conivncia, para que no haja nenhuma reedio da poltica do
toma-l-d-c.
Ainda dentro do municpio verde, estudamos incentivos legais criao de Reservas
Particulares do Patrimnio Natural (RPPNs) no estado. Hoje, no h incentivo;
nenhum estmulo. Queremos uma forma de recompensar o indivduo que cria uma
RPPN.
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hdricos Governo do
Estado do Paran
Bacia Azul
Para terminar, um terceiro programa, que estamos chamando Bacia Azul. O Bacia
Azul o conjunto de aes no mbito de uma bacia hidrogrfica. A bacia a
unidade de planejamento e ao ambentalmente equilibrada. O programa comporta
aes intermunicipais, para que obedeam uma lgica da natureza, e no uma
lgica do limite poltico-geogrfico dos municpios.
330
As tarefas so aquelas que reequilibrem as bacias hidrogrficas, reduzindo a carga
poluente dos mananciais e protegendo as nascentes. Isso diz respeito
recuperao florstica e faunstica do estado: plantio das matas ciliares,
reestruturao das reservas legais, aes de proteo do solo como as conhecidas
aes de micro-bacias, recomposio de biomas destrudos e em processo de
destruio e outras.
A outra questo a forma como a bacia ser administrada. Entendemos que
precisamos de um novo modelo de gesto de bacias hidrogrficas.
Nosso governo entende que, nos ltimos anos, houve uma tendncia, na poltica do
governo federal, de que a gesto das bacias hidrogrficas obedecessem uma lgica
de mercado. Com isso, o Paran formatou, em suas leis e decretos, um desenho de
gesto de bacias hidrogrficas que culmina na privatizao da gesto das bacias e,
por conseguinte, na privatizao da gua. Ns somos contra a privatizao!
A gua um bem pblico, e no privado, e no de diretio difuso. um bem pblico,
repito. E se um bem pblico, deve ser gerida pelo estado. Ento, entendemos, em
primeiro lugar, que o Estado deve fazer a gesto das guas no Paran.
Nossa legislao mais recente, dever ser revista dentro dos prximos dias.
A gesto deve ser feita pelo Estado, de forma compartilhada com a sociedade. Em
outras palavras: queremos uma sociedade pblico/pblico. No queremos uma
sociedade pblico/privada.
A sociedade no uma coisa s! A dona de casa que capta gua para regar a horta
no tem os mesmos interesses do empresrio que capta gua para sua metalurgia,
sua destilaria, ou capta gua mineral, para engarrafar ou produzir cerveja.
Ainda sobre a gua, temos que cuidar do estado do Paran sem perder a dimenso
de futuro. Temos um verdadeiro mar de gua subterrnea, embaixo do Paran, que
se estende desde a Argentina, passando pelo Paraguai, Brasil, que o Aqifero
Guarani. So 1 milho e 200 mil Km. gua de chuvas de 10 mil anos atrs.
gua suficiente para beneficiar 500 milh~ies de pessoas por ano. um aqifero
estratgico. Por isso, precisamos desenvolver mecanismos de segurana para ele.
urgente a discusso do Brasil com a Argentina, o Paraguai, o Uruguai,
estabelecendo normas de conduta legais que assegurem a potabilidade do mesmo.
At porque as perfuraes esto absolutamente sem controle. O estado de So
Paulo tem mais de mil poos perfurados, para fins tursticos, energticos, de
captao, etc.
E to importante quanto isso entendermos que fazemos parte de uma grande
bacia, que a Bacia do Prata. E a Bacia do Prata precisa, tambm, ser tratada
enquanto bacia. A distribuio de gua e a distribuio populacional no Brasil
absolutamente casustica. Por exemplo, a Amaznia tem 72% da gua do Brasil,
mas tem l 7% da populao brasileira. O sul tem 42% da populao e 6% da gua
do Brasil. Essa lgica absurda: metade da populao brasileira chega conta com
6% da gua do Brasil. Essa lgica absurda: metade da populao brasileira chega
conta com 6% da gua do pas!
331
fundamental no perdermos a viso estratgica do que estamos falando porque a
gua faz parte de 70% do nosso corpo. Quem aqui, pesa 50 Kg, saiba que 35 Kg
de gua. Somos uma verdadeira caixa d'gua ambulante!
A gua vida, e nada mais estratgico do que a vida. Portanto, nada mais
estratgico do que a gua.
esta a sntese da nova poltica ambiental do Paran.
Palestra proferida no Seminrio Interacional de guas em 28/03/2003.
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hdricos - Governo do
Estado do Paran
Aptido do Solo Paranaense
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pr_solo.html
Histrico e Conceito
O estudo da aptido agrcola das terras do Estado do Paran se processa, em
relao ao estado e s mesorregies, segundo as aptides especficas dos solos
para as lavouras, pastagens cultivadas e nativas, silvicultura, terras sem aptido
agrcola, nveis exigveis de fertilizantes e corretivos, emprego de tcnicas
conservativas e nveis de possibilidades de mecanizao do solo.
A agricultura uma atividade econmica dependente, em grande parte, do meio
fsico. O aspecto ecolgico confere fundamental importncia ao processo de
produo agropecuria. Qualquer pas ou regio apresenta vrias sub-regies com
diferentes condies de solo e clima e, tambm, distintas aptides para produzir
bens agrcolas. Ainda que a tecnologia permita superar, em parte, as limitaes
derivadas do condicionamento ecolgico, importante lembrar que a imobilidade
dos recursos naturais restringe o raio de manobra do planejamento e condiciona,
parcialmente, as decises relacionadas com seu uso para a produo agrcola.
Em funo dessas caractersticas, surge a necessidade de uma avaliao qualitativa
da disponibilidade dos recursos das terras do Estado do Paran, contemplando
alternativas de seu melhor uso da adoo de distintos nveis de manejo dos solos e
da indicao de diferentes tipos de utilizao.
No Estado do Paran foram identificados:
14,5 milhes de hectares de terras com vocao para lavouras.
2,8 milhes para pastagem plantada.
0,9 milhes para silvicultura e pastagem natural.
1,6 milhes de hectares de terras sem aptido para uso agrcola, que
correspondem a 8% da superfcie estadual.
332
As terras indicadas para lavouras perfazem 73% da rea do estado. Desse total,
52% permitem a explorao com culturas de ciclos curtos e longos, 8% de ciclo
curto, com um cultivo por ano, e 58% com dois cultivos por ano.
Constituindo uso alternativo com pastagem plantada, as culturas de ciclo longo
podem ocupar 1,6 milhes de hectares, que abrangem 8% do Estado. As culturas
especiais de ciclo longo, no caso do Paran representadas pela fruticultura de clima
temperado, so indicadas para 6,2 milhes de hectares, que totalizam 31% da
extenso do Estado.
A rea indicada para o cultivo de espcies que necessitam de um alto nvel
tecnolgico, com mecanizao presente nas diversas fases da operao agrcola,
compreende a 53% da superfcie do estado.
Classificao e Aptido Agrcola do Solo por Mesorregio
Mesorregio 401
rea: 2.690.400 ha, que correspondem a 13,50% da superfcie estadual.
Localizao: constitui o espao compreendido entre a baixada litornea e as
terras altas do Primeiro Planalto. A baixada litornea paranaense abrange uma
estreita faixa de terras, com aproximadamente 20 km de largura, podendo
alcanar at 50 km, na altura da Baia de Paranagu.
Aspectos fsicos e formao do solo: a baixada litornea no formada
somente por sedimentos quaternrios. Na base da serra, localizam-se terrenos
derivados de rochas cristalinas fortemente decompostas. Nos terrenos cristalinos
da baixada, os rios apresentam vales largos formados por depsitos aluviais e
coluviais, onde se encontram terras frteis.
Relevo : na base dos morros que compem a Serra do Mar encontra-se, a
Oeste, uma superfcie cujos topos tm uma altitude muito regular, variando entre
850 e 950 metros. o chamado Primeiro Planalto, Planalto de Curitiba ou
Planalto Cristalino Atlntico Paranaense. So constitudos de rochas cristalinas,
tais como xistos metamrficos e gnaisses, cortados por diques de pegmatitos e
intruses granticas e pela srie Aungui, de formao mais recente. Nas pores
Sul e Leste deste planalto predomina o relevo ondulado, formado por morros de
meias-laranjas, relevo movimentado constitudo de rochas alonguianas, tais
como filitos, quartzitos, calcreos dolomticos, etc. A Leste e ao Sul de Curitiba,
ocorre uma bacia sedimentar de relevo suave, com largas vrzeas planas de solo
turfoso abertas pelo alto Rio Iguau e seus afluentes.
Clima : nesta mesorregio distinguem-se dois tipos de clima, segundo a
classificao de Kppen. Cfb na rea do planalto, domnio do clima sub-tropical
mido, onde se registram mdias trmicas anuais em torno de 16 a 17C. As
temperaturas mximas anuais apresentam uma mdia de 23C, enquanto a
mdia anual das mnimas gira em torno de 11 e 12C; os invernos so rigorosos
com ocorrncia de geadas. A precipitao anual atinge 1.500 mm.
Af ocorre na baixada litornea, de clima tropical supermido. As mdias trmicas
oscilam entre 20 e 21C. As mdias anuais das mximas so de 26C e as das
333
mnimas, de 17C. No ocorre geada durante o inverno. O relevo influi sobre a
precipitao, causando as chamadas chuvas orogrficas. A vertente atlntica da
Serra do Mar a regio mais chuvosa do Estado, j que, oferecendo obstculos
aos ventos dominantes de Sudeste, provoca precipitaes superiores a 3.000
mm anuais.
Vegetao: o litoral paranaense formado, principalmente, por manguezais
alternados com vegetao psamfila. Os primeiros formam florestas arbustivas,
de 5 a 6 metros de altura, erguidas em razes adventcias sobre os pntanos de
guas salobras, periodicamente invadidas pelas mars altas. A mata mida
subtropical ocorre na regio da Serra do Mar, onde a influncia martima eleva-se
a altitudes de 1.000 a 1.200 metros, prolongando-se ao longo das ravinas at
altitudes mais elevadas.
Aptido do solo:
a) Lavouras: tipo de utilizao indicado para 34,20% da superfcie da mesorregio,
j que abrange 919.684 ha. As culturas de ciclo curto e longo podem ser
exploradas em 91.110 ha - 10% da rea propcia s lavouras. J as culturas de
ciclo curto, com apenas um cultivo por ano, apropriam-se a 345.345 hectares,
que correspondem a 37% daquele total.
Predominam, contudo, terras mais adequadas para culturas especiais de ciclo longo
(fruticultura de clima temperado), abrangendo 804.786 ha, sendo que 82% desse
total correspondem s terras indicadas para lavouras, principalmente as que
permitem a explorao de cultura de ciclo curto, com dois cultivos por ano.
As terras indicadas para culturas de ciclo longo atingem 70.623 ha, em reas aptas
ao plantio de pastagem.
b) Pastagem plantada: constituem-se em um sistema de produo adequado em
475.573 ha, 17,70% da rea da mesorregio, com um quarto dessa rea
apresentando alternativas de uso com culturas especiais de ciclo longo.
c) Silvicultura: a silvicultura tem condies de ocupar um espao bastante
expressivo na mesorregio, j que indicada para 535.120 ha, 19,90% de sua
rea.
Terras sem Aptido para o Uso Agrcola: ocupam 670.089 ha, 24,90% da
extenso da mesorregio. Cerca de 10% dessa rea est destinada aos parques
e reservas. Os parques e reservas equivalentes abrangem 77.570 ha, 3% da
mesorregio.
Mesorregio 402
rea: 3.098.500 ha, ou seja, 15,50% do espao estadual.
Localizao: esta mesorregio corresponde ao conjunto de relevos planlticos
de escarpas voltadas para Leste, onde suas cotas so da ordem de 1.100 a
1.200 metros, caindo suavemente para Oeste, junto aos padres do Terceiro
Planalto, num franco domnio de relevo de cuestas. Esta regio denominada de
Segundo Planalto, Planalto de Ponta Grossa ou, ainda, Planalto Paleozico.
334
Aspectos fsicos e formao do solo : as rochas que ocupam essa regio so
de sedimentos de idade paleozica compostos de arenito, folhelhos, filitos, xistos
carbonosos, xistos betuminosos, calcreos, carvo-de-pedra, etc.
Relevo: convm salientar que a regio de Castro constitui uma
compartimentao topogrfica do Primeiro Planalto. Nesta rea, o relevo se
configura em ondulaes suaves, interrompidas por largas plancies aluviais dos
altos cursos dos rios Iguau, Pitangui e Jaguariava e seus tributrios,
pertencentes Bacia do Rio Paran.
Clima: Cfb os totais de chuva nessa mesorregio variam de 1.300 a 1.700 mm
anuais, no sentido leste-oeste. As isotermas de 18 e 19C, relativas mdia
anual, compreendem as sees norte e noroeste da regio, alcanando 16C nas
pores sul e sudeste. As mdias anuais das mximas oscilam entre 13 e 11C
na direo norte e sul.
Vegetao : a cobertura vegetal constituda de mata de araucria, j bastante
devastada pela ocupao humana e por formaes campestres.
Nos campos gerais do Paran, perto da escarpa oriental do Segundo Planalto, os
solos apresentam-se praticamente desprovidos da camada superficial, rico em
hmus e, portanto, com uma colorao clara. Nesses solos, bastante freqente
a ocorrncia do capim-barba-de-bode, como resultado do pastoreio excessivo e
de prticas agrcolas pouco recomendadas. Nessas reas, a drenagem pobre
permite a formao de turfeiras nas depresses, caracterizadas por solos muito
escuros.
Aptido do solo:
a) Lavouras: o sistema de produo de lavouras est previsto para 2.223.872 ha,
compreendendo, portanto, 71,80% da superfcie da mesorregio. Desse total,
141.600 ha, 6,40% das terras, permitem a sua utilizao de ciclo curto e longo e
814.450 ha, 36,60% apenas com culturas de ciclo curto, com um cultivo por ano.
O uso mais intensivo das terras, com dois cultivos por ano, pode estender-se por
1.334.622 ha, 60% da rea apta para lavouras.
As culturas especiais de ciclo longo so indicadas para 2.126.222 ha, sendo que
96,30% dessas terras localizam-se em reas destinadas s lavouras,
principalmente s passveis de serem exploradas com duas culturas anuais.
J as culturas de ciclo longo, constituindo uso alternativo com a pastagem plantada,
so indicadas somente para 52.700 ha.
b) Pastagem plantada: o pasto pode ser plantando em 517.110 ha, que
representam 7,20% da mesorregio. Nessas terras, localizam-se reas que,
oferecendo melhores condies podem ser aproveitadas, tambm com lavouras
de ciclo longos e especiais de ciclo longo.
c) Silvicultura: indicada para 190.650 ha, 6,20% da superfcie da mesorregio. Em
um quinto dessa rea h condies para a explorao com culturas de ciclo
longo.
d) Pastagem Natural: o pasto natural ocorre em 7.850 ha, que representam
somente 0,20% das terras da mesorregio.
335
Terras sem aptido para o uso agrcola: essas terras abrangem 157.950 ha,
que perfazem 5,10% da mesorregio, no se localizando parques ou reservas
dentro de seus limites.
Mesorregio 403
rea: 4.613.000 ha, que representam 23,10% da extenso estadual.
Localizao : esta mesorregio assenta-se sobre um conjunto de relevo
denominado de Planalto de Guarapuava. Nesta rea existem grandes derrames de
rochas eruptivas bsicas que constituem o Terceiro Planalto. Apresenta altitudes
variadas e balizada pela escarpa da Serra Geral, atingindo de 1.100 a 1.250
metros, no trecho paranaense denominado de Serra da Esperana, no limite leste
da regio, declinando de altitudes em direo ao Rio Paran, onde atinge 300
metros.
Aspectos fsicos e formao do solo : as rochas eruptivas que predominam so
o basalto, o diabsio, o melfiro e outras. Na base da escarpa, os derrames de
lavas recobrem o arenito Botucatu, de estratificao cruzada, de origem elica e de
colorao que vai do branco ao avermelhado.
Clima: Cfb corresponde poro sudeste, na regio de Guarapuava. A
precipitao mdia anual varia de 1.400 a 1.800 mm sendo mais chuvoso o centro
da mesorregio. Nas localidades de Foz do Iguau e Guara para os meses de
inverno registram-se precipitaes inferiores metade das observadas nos meses
de vero; porm, essa diminuio de volume no chega a prejudicar as culturas.
As isotermas anuais diminuem no sentido noroeste sudeste, variando de 20 a
15C. O mesmo acontece com a mdia das mximas (26C em Terra Roxa e 23C
em Guarapuava) e com a das mnimas (15C em Terra Roxa e 11C em
Guarapuava). Apenas as temperaturas altas no vero parecem prejudicar algumas
culturas nas partes mais baixas (abaixo de 400 metros, nas proximidades do Rio
Paran), ao mesmo tempo em que as temperaturas mais baixas do clima Cfb
impedem o cultivo de espcies tropicais, devido freqncia de geadas.
Vegetao : a vegetao predominante do tipo floresta sub-tropical, registrando-
se a presena da mata de pinheiros e grandes manchas de campo.
Aptido do solo:
a) Lavouras: as terras indicadas para lavouras atingem 3.938.708 ha, 84,50% da
extenso da mesorregio. Desse valor, 1.588.769 ha, 40%, podem ser utilizados
com culturas de ciclos curtos e longos e 499.840 ha, 12,70% apenas com uma
cultura anual. As terras propcias s culturas de ciclo curto, com dois cultivos por
ano, atingem 2.889.682 ha, 73,40%. As culturas especiais de ciclo longo podem
ser exploradas em 2.348.028 ha, predominantemente em terras com uso indicado
para lavouras. Os parques e reservas equivalentes ocupam 176.100 ha das terras
indicadas para lavouras.
b) Pastagem plantada: as terras adequadas pastagem plantada somam 127.355
ha, 2,80% da superfcie da mesorregio, e as culturas especiais de ciclo longo
constituem-se em alternativas de uso em 28.284 ha dessa extenso.
336
c) Silvicultura: em 38.197 ha, menos de 1% da mesorregio, recomendada a
utilizao da silvicultura, principalmente em reas de relevo forte ondulado ou
montanhoso.
d) Pastagem Natural: ocupa uma rea pouco expressiva espacialmente.
Terras sem aptido para o uso agrcola : a rea sem condies de responder
atividade agrcola abrange 322.085 ha, ou seja, 7% da mesorregio, sendo mais
bem utilizada para a preservao da flora e da fauna.
Mesorregio 404
rea: abrange uma rea de 2.222.800 ha, que corresponde a 11,20% da
superfcie do estado.
Localizao: situa-se no Terceiro Planalto abrangendo toda a rea denominada
de vertente do Planalto de Palmas, compreendendo o espao dominado pelos
afluentes da margem esquerda do Rio Iguau, a jusante da cidade de Porto
Vitria.
Aspectos fsicos e formao do solo: uma regio com caractersticas fsicas
bem variadas. O relevo no trecho oriental, sobretudo em Palmas, apresenta-se
com superfcies elevadas e encostas ngremes. J no extremo sudoeste do
Estado, caracteriza-se por apresentar formas suaves. As rochas eruptivas
bsicas so responsveis pela formao de solos argilosos e com elevados
teores de minerais pesados, tais como ferro, titnio e mangans.
Clima : pela classificao climtica de Kppen, so encontrados na rea os tipos
climticos Cfb e Cfa. Corresponde ao clima Cfa toda a poro nordeste e limites
norte, at o Municpio de Pinho. A precipitao mdia anual para essa
mesorregio varia de 1.700 a 2.000 mm. O trimestre mais chuvoso, maro, abril e
maio, concorre em 28% do total da precipitao anual, enquanto que o menos
chuvoso, julho, agosto e setembro, contribui com 21%, demonstrando uma
distribuio uniforme da precipitao durante o ano. As mdias trmicas anuais
diminuem no sentido oeste-leste, registrando-se 18C na seo noroeste e 16C
na nordeste. Quanto s temperaturas mximas, as mdias anuais aumentam no
sentido sudeste-noroeste, variando de 23C em General Carneiro a 26C em
Capanema. A mdia anual das mnimas aumenta no mesmo sentido, verificando-
se 11 a 13C para as mesmas localidades.
Vegetao: predomina a floresta de araucria, embora se encontre a mata
latifoliada ao longo dos vales, principalmente do Rio Iguau. Nos municpios de
Clevelndia e Palmas ocorrem campos que compem reas bastante extensas.
Tipos de solo: do aspecto pedolgico, as formas de relevo normalmente
condicionam os tipos de solos encontrados. Sendo assim, as reas de relevo
plano, nos aluvies dos cursos de gua, esto agrupadas principalmente por
solos aluviais e hidromrficos. Nas reas de relevo suave e ondulado, ocorrem
solos de classe latossolo roxo, latossolo bruno, cambissolo, terra roxa
estruturada e terra bruna estruturada. Os solos litlicos esto presentes nas
partes mais acidentadas.
337
Aptido do solo:
a) Lavouras: as terras indicadas para lavouras compreendem 1.735.698 ha, 8,10%
do espao regional. Dessa rea, 526.590 ha, 30,30% permitem sua utilizao
com lavouras de ciclos curto e longo. As lavouras de ciclo curto, com apenas um
cultivo por ano, podem ocupar 401.254 ha, 23,10% da extenso total. Em
1.074.420 ha, 61,90% da rea com indicao para lavouras, as terras
possibilitam uso mais intensivo com duas culturas anuais. As culturas especiais
de ciclo longo podem estender-se por 1.194.976 ha, concentrando-se a grande
parte dessas terras na rea indicada para lavouras de ciclo curto, com dois
cultivos por ano.
b) Pastagem Plantada: abrange uma rea de 125.576 ha, 5,60% da mesorregio,
oferecendo em pequena parcela do total, como alternativa de uso para culturas
especiais de ciclo longo.
c) Silvicultura: as terras indicadas para a utilizao com silvicultura abrangem 92,889
ha, compreendendo 4,20% da rea da mesorregio.
d) Pastagem Natural: abrange menos de 1% das terras da mesorregio.
Terras sem Aptido para o Uso Agrcola: engloba 255.409 ha, 11,50% da
extenso da mesorregio.
Mesorregio 405
rea: abrange uma rea de 2.335.700 ha, 11,70% do Estado do Paran.
Localizao: faz parte da regio conhecida como norte do Paran e est
compreendida no Terceiro Planalto.
Aspectos fsicos e formao do solo : o terceiro planalto do Paran sob o ponto
de vista geolgico bastante uniforme e caracterizado pela presena de
extensos lenis de lavas de origem vulcnica que constituem o trapp do Paran.
Em razo dessa uniformidade geolgica e a pequena variao climtica ocorrida
nessa regio, o relevo e os solos so bastante homogneos, encontrando-se
extensas reas com o mesmo padro. No entanto, a ocorrncia de arenito
intertrapp responsvel pela ocorrncia de solos mais porosos, registrando-se
reas de maior sensibilidade eroso, apesar da pouca energia do relevo. Nas
reas de relevo forte ondulado e montanhoso, que tambm esto presentes,
embora em menor proporo, ocorrem solos poucos desenvolvidos, normalmente
os litlicos.
a parte leste da regio, das rochas originadas dos derrames de lavas
submetidos a um clima tropical mido ou semi-mido, derivaram as terras roxas e
similares, de fertilidade varivel, dependendo da composio mineral da rocha,
normalmente basltica. O arenito Caiu, ao leste da regio, forma uma lngua que
cobre o topo dos espiges, onde foram mapeados solos podzlicos e latossolos de
textura mdia e arenosa. Mais para oeste, o arenito vai gradativamente descendo as
encostas, de modo que s nas partes mais fundas dos vales a eroso traz luz o
trapp e, conseqentemente, a terra roxa. A espessura e o relevo em que se encontra
338
a camada de arenito tem grande importncia prtica. Quando muita delgada, gera
solos podzlicos; e quando espessa, forma latossolos igualmente muito
permeveis e facilmente esgotveis, quando no adotado um manejo adequado.
Clima: de acordo com a classificao climtica de Kppen, o tipo climtico
predominante dessa mesorregio o Cfa. A exceo fica por conta de uma
estreita faixa de terras na regio que compreende partes dos Municpios de
Faxinal, Marilndia do Sul, Califrnia, Apucarana e Arapongas, que se classifica
como tipo Cfb.
clima da regio resulta do jogo de trs massas de ar, com domnio da massa
tropical atlntica, que a principal componente da mdia trmica que varia de 22 a
19C, no sentido norte-sul. No vero, a regio periodicamente invadida pela massa
equatorial continental, formando chuvas frontais e de conveco (estas localmente),
com trovoadas. No inverno, a regio esporadicamente invadida pela massa polar
atlntica, que, subindo pelo vale do Paran, provoca a formao de geadas e de
chuvas frontais de inverno. Os ndices pluviomtricos variam de 1.200 mm, na parte
setentrional, atingindo 1.700 mm, em toda a poro sul. O perodo mais chuvoso
corresponde aos meses de janeiro e fevereiro e a estao mais seca vai de meados
de junho at meados de setembro.
Vegetao: toda essa regio foi originalmente domnio da mata tropical
subpereniflia, que, embora se classifique dentro do mesmo tipo de formao,
apresenta variaes fisionmicas de acordo com o tipo de solo. Sendo assim, a
mata instalada sobre os solos do arenito Caiu tem rvores mais finas e de
menor porte em relao s da terra roxa e demais solos originados do derrame
basltico.
Aptido do solo:
a) Lavouras: as terras indicadas para o tipo de utilizao com lavouras abrangem
2.051.160 ha, que correspondem a 87,80% da rea dessa mesorregio. Dessas
terras, 1.7766.344 ha, portanto 86,60%, permitem o desenvolvimento de lavouras
com culturas de ciclos curto e longo. Ainda nessa rea, em 1.537.564 ha, h
condies de se obter dois cultivos por ano. As culturas especiais de ciclo longo
so indicadas para 273.519 ha, localizadas em reas apropriadas para lavouras,
principalmente as convenientes e as de duas culturas anuais. As culturas de ciclo
curto com apenas um cultivo por ano apresentam poucas perspectivas de
explorao, podendo ocupar 98.059 ha, em decorrncia da ausncia de perodo
seco longo e, portanto, de uma boa distribuio das chuvas. b) Pastagem
plantada: a pastagem plantada representa um tipo de utilizao agrcola capaz
de ocupar 284.540 ha - 12,20% da rea da mesorregio. Como a quase
totalidade dessas terras apresenta condies favorveis de relevo e de
profundidade dos solos, o pasto plantado concorre com a opo de uso oferecida
pelas culturas de ciclo longo.
Terras sem Aptido para o Uso Agrcola: ocupam 106.636 ha, que equivalem a
4,60% das terras da mesorregio.
339
Mesorregio 406
rea: a mesorregio 406 tem uma extenso de 1.361.600 ha 6,8% da
superfcie estadual.
Localizao: localiza-se no extremo nordeste do Estado, na divisa com o Estado
de So Paulo. Abrange o chamado Norte Velho ou Norte Pioneiro e a zona de
transio entre este e os Campos Gerais.
Aspectos fsicos e formao do solo : integra o bloco planltico denominado de
zonas de mesetas do mesozico, do segundo planalto paranaense. Apresenta
um relevo mais acidentado no trecho que compreende as escarpas da Serra da
Boa Esperana, encontrando-se mesetas isoladas e em cadeias, com restos de
sedimentos trisicos, sills, diques e capas de rochas eruptivas bsicas do
vulcanismo gondwnico.
Como a geologia da regio complexa, os solos se desenvolveram a partir
de vrios materiais, sendo a litologia integrada por rochas sedimentares de natureza
diversa, principalmente por arenitos, siltitos, argilitos, varvitos, tilitos e folhelhos
(podzlicos, litlicos, etc). Na poro noroeste da regio, ocorrem os solos derivados
das rochas eruptivas bsicas (terra roxa estruturada, brunizem avermelhado, etc.).
Clima: o tipo climtico segundo Kppen que predomina nessa mesorregio o
Cfa. Apenas os municpios de Sapopema, Curiva, Congoinhas e Wenceslau
Braz registram condies climticas que os enquadram no tipo Cfb.
A quase totalidade da regio registra ndices pluviomtricos anuais em torno
de 1.400 mm. Na divisa com o Estado de So Paulo, esses ndices decrescem para
1.200 mm. Apesar dessa mdia relativamente baixa, a precipitao no Municpio de
Jacarezinho oscila entre 1.135 e 3.425 mm e, em Cambar, entre 1.085 e 3.165 mm.
As mdias trmicas anuais variam de 21C, no norte da regio, a 18C, no sul. A
mdia anual da temperatura mxima, em torno de 29C, localiza-se na poro norte
das reas que recebem menor quantidade de chuvas. Ao sul, a mdia das mximas
de 26C. Quanto mdia anual das mnimas, decresce, tambm, no sentido norte-
sul, oscilando de 17 a 14C.
Vegetao: predomina a floresta tropical que ocorre em grande parte na regio.
Ao sul da regio, registra-se a presena da floresta subtropical. Manchas de
campo e de campo cerrado ocorrem em pequenas reas.
Aptido do solo:
a) Lavouras: uma rea de 1.000.960 h, 70,40% da mesorregio, est apta para o
uso mais racional de seu potencial agrcola se explorados com lavouras. Em
557.000 ha 55,60% dessas terras - h condies de se estabelecer lavouras de
ciclos curto e longo. As terras que s possibilitam um cultivo por ano, no
indicadas para culturas de ciclo longo, correspondem a 136.800 ha 13,70%.
Das terras aptas para as lavouras, 812.710 ha 81,20% - permitem uso mais
intensivo com dois cultivos anuais, embora cerca de um tero dessa rea oferea
condies, tambm, para as culturas especiais de ciclo longo que podem
abranger 306.260 ha. b) Pastagem plantada: a rea apta a ser explorada com o
pasto plantado adquire propores bastante expressivas 23,40%, que
340
correspondem a 318.640 ha. c) Silvicultura: as terras indicadas para esse tipo de
utilizao ocupam somente 23.100 ha, 1,70% da extenso da mesorregio.
Terras sem Aptido para o uso Agrcola: essas terras abrangem 61.300 ha, que
equivalem a 4,50% da superfcie da mesorregio.
Mesorregio 407
rea: abrange aproximadamente uma rea de 2.585.903 ha.
Localizao: localiza-se na regio do terceiro planalto do trapp do Paran,
situando-se entre os Rios Iva e Piquiri, estendendo-se das zonas de mesetas do
mesozico, a leste, at as margens do Rio Paran.
Aspectos fsicos e formao do solo: dominam os solos derivados do basalto com
exceo em alguns trechos, principalmente a noroeste da cidade de Campo
Mouro, onde o arenito Caiu penetra como uma cunha.
Relevo: a maior parte dessa regio apresenta um relevo pouco movimentado.
Clima: caracteriza-se pela transio do clima tropical para o sub-tropical. A
precipitao mdia anual varia de 1.200 a 1.800 mm; nas regies mais chuvosas,
os ndices variam de 1.500 a 1.800 mm anuais. As temperaturas mdias
aumentam na direo sudeste a noroeste, variando de 18 a 22C. As mdias
anuais das mximas e das mnimas aumentam no mesmo sentido, variando de
24 a 29C para as primeiras, e de 13 a 15C, para as segundas.
Vegetao: sendo uma zona de transio climtica, essa mesorregio apresenta
diferentes tipos de vegetao mata pluvial da Bacia do Paran, mata das
araucrias, campos cerrados e mata pluvial tropical e subtropical sobre os
arenitos de Campo Mouro.
Aptido do solo:
a) Lavouras: descontando o valor ocupado com parques e reservas, a rea indicada
para o sistema de produo com lavouras abrange 1.967.320 ha, que correspondem
a 75,90% da superfcie da mesorregio. Desse total, 1.292.086 ha 65,70% -
podem ser explorados com culturas de ciclos curto e longo. Em 74.128 h, 3,70%,
as terras s permitem culturas de ciclo curto, com um cultivo por ano.
As culturas de ciclo curto com dois cultivos por ano so apropriadas para 1.067.948
ha 54,30% das terras aptas para lavouras.
b) Pastagem plantada: representa um tipo de utilizao agrcola indicado para
587.000 ha, 22,70% da rea da mesorregio. Toda essa rea adapta-se, tambm, a
culturas de ciclo longo.
Terras sem Aptido para o Uso Agrcola: as terras destinadas preservao da
flora e fauna ocupam menos de 1% da mesorregio em anlise.
Mesorregio 408
Localizao: situada no noroeste do Estado do Paran, a mesorregio 408, de
ocupao recente e forte crescimento demogrfico, forma uma cunha para o
341
oeste, entre os Rios Parapanema, Paran e Iva, semelhante ao Tringulo
Mineiro.
Aspectos fsicos e formao do solo : seus terrenos so derivados do arenito
Caiu, que recobre o trapp, e executando-se uma pequena rea a sudeste,
correspondente aos afluentes do Iva, onde o basalto aflora.
Relevo: entre os vales largos dos rios Parapanema, Paran e Iva estendem-se
um planalto de relevo suave ondulado muito regular.
Clima: Cfa resultante da conjugao de trs massas de ar, com dominncia da
tropical atlntica, que a principal componente da mdia trmica anual, a qual
registra-se em torno de 22C.
A distribuio anual das chuvas oscila entre 1.200 e 1.500 mm, correspondendo o
perodo mais chuvoso aos meses de janeiro e fevereiro.
Vegetao: essa regio, com altitudes que decrescem em relao ao Rio Paran,
foi originariamente domnio da mata tropical da qual restam poucas
remanescentes. Estas apresentando-se menos exuberantes em algumas reas,
em decorrncia da pobreza dos solos
Aptido do solo:
a) Lavouras: dois teros dessa mesorregio apropriam-se ao uso com lavouras, j
que essa indicao extensiva a 655.896 ha. Desse valor, 631.096 ha, o
equivalente a 96,20%, permitem sua utilizao com culturas de ciclos curto e longo,
sendo que 98.300 ha dessas terras possibilitam cultura de ciclo curto, com dois
cultivos anuais.
As culturas de ciclo curto, com um cultivo por ano, so propcias para somente
24.800 h; j as de ciclo longo, como segunda opo de uso das terras com aptido
boa para pasto plantado, podem ocupar uma rea bem expressiva, um tero da
mesorregio.
b) Pastagem plantada: esse sistema de produo adequado para 336.900 ha, que
representam 33,90% das terras da mesorregio. Toda essa rea usada
alternativamente com as culturas de ciclo longo.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pr6.html#turismo
Grande parte do desenvolvimento do Estado deve-se ao turismo. So vrios os
atrativos que fazem com que turistas do mundo todo desejem conhecer as belezas
naturais do Paran, como As Cataratas do Iguau, alm de outras reas de
inigualvel beleza. Muitos tambm so os parques e bosques adaptados pela mo
do homem que se fizeram pontos tursticos importantes.
Ao todo, so 199,554Km de belas paisagens a serem conhecidas, desde o litoral
paranaense at Foz do Iguau. Em cada regio desta extensa rea, uma surpresa
est reservada aos olhos daqueles que se aventuram em conhec-las e que
342
certamente ficaro registrados no somente em fotos ou vdeo, mas principalmente
na memria de todos os visitantes.
Serra do Mar
Considerada Reserva da Biosfera desde 1993, graas preservao da fauna e da
flora local, apresenta paisagens tropicais. Caminhos como o do Itupava, Morros
como o Anhangava e Pico Marumbi, que compem a Serra do Mar e so visitados
por muitas pessoas, requerem um pouco de prtica e um guia conhecedor da regio.
Tratam-se de reas montanhosas e de mata fechada com trilhas onde o menor
descuido pode ser perigoso.
Estrada da Graciosa: Concluda em 1873, a Estrada da Graciosa liga Curitiba a
Antonina e Morretes, por entre a Serra do Mar atravs de caminhos originariamente
utilizados por ndios; a mata tropical e os riachos que nascem na serra e seguem
para o litoral transformam a paisagem. Atualmente a Estrada da Graciosa calada
por paraleleppedos facilitando o trfego de automveis, porm ainda conserva
construes em pedra feitas por tropeiros quando da povoao dos planaltos de
serra acima.
Estrada de Ferro Curitiba Paranagu: Liga Curitiba a Paranagu desde 1880,
num trecho de 110 quilmetros sobre trilhos centenrios. Construda na poca do
Imprio, corta a Serra do Mar, passando por precipcios de 1010 metros de altura.
Neste passeio se avista a Cascata Vu da Noiva (80m), a Garganta do Diabo e
outras atraes. O turista tem a opo de seguir de trem ou de litorina. Com vrias
paradas na Serra do Mar, um passeio inesquecvel, alm das paradas nas cidades
histricas de Morretes, onde a prtica do bia-cross (descer o Rio Nhundiaquara de
bia) uma das possibilidades de diverso tambm se pode seguir at Antonina e
provar a culinria local o barreado.
O acesso Serra do Mar, Morretes, Paranagu e Antonina pode ser feito de carro,
trem, litorina ou nibus pela Estrada da Graciosa, Rodovia BR-277, e pela Estrada
de Ferro Curitiba Paranagu, sendo que cada um destes caminhos apresenta uma
face diferente, mas igualmente bela da Serra do Mar.
Litoral
A extenso litornea paranaense uma das menores do Brasil, com 98 quilmetros
de costa. Chega-se at l pela BR-277, Estrada da Graciosa (Pr-410) e pela Estrada
de Ferro Curitiba-Paranagu. Muitos municpios que compem o litoral paranaense
esto nesta rota e distantes 100 quilmetros da Capital, como Antonina, Morretes,
Paranagu, Guaraqueaba, Pontal do Paran, Matinhos e Guaratuba.
Antonina: Cidade histrica, povoada entre 1648 e 1654. Arquitetura antiga, ruas
estreitas caladas por pedras e povo que mantm suas tradies. Possui um
terminal porturio que atualmente o nico no Brasil a funcionar com o sistema de
barcaas.
343
Pontos Tursticos de Antonina
Igreja Matriz de N. S. do
Pilar
Fonte da Carioca Sede da Prefeitura Municipal
Igreja de Bom Jesus do
Saiv
Igreja de So Benedito Praa Coronel Macedo
Estao Ferroviria Theatro Municipal
Praa Romildo Gonalves
Pereira
Prainha Ponta da Pita Ponta do Flix
Complexo Industrial
Matarazzo
Rio do Nunes
Parque Estadual Roberto
Ribas Lange
Pico Paran Bairro Laranjeiras Porto Baro do Tef
Bairro Alto
Usina Hid. Parigot de
Souza
Carnaval de Antonina
Morretes: Com 15.024 habitantes de diversas descendncias, fica a 68 quilmetros
dos grandes centros urbanos, sobrevive principalmente de olericultura, horticultura e
citricultura, propiciadas pelas temperaturas de 18C a 22C. Sua rea de 663 Km,
que tambm se beneficiam da atividade turstica graas s belezas naturais ali
presentes. Atualmente produz gengibre e acerola comercializados no exterior.
Pontos Tursticos de Morretes
Igreja Matriz N. S. do
Porto
Igreja de So Benedito
Igreja de So Sebastio do
Porto de Cima
Casa Rocha Pombo Marco Zero Estao Ferroviria
Rio Nhundiaquara Prainhas Porto de Cima
Cascatinha
rea de Interesse Tur. do
Marumbi
Salto do Macaco
Salto da Fortuna Pico Marumbi Caminhos Coloniais
Estrada da Graciosa Chcara Reomar
Paranagu: Os ndios carijs eram os primeiros habitantes da terra inicialmente
conhecida como Pernagu, Parnagu, e posteriormente Paranagu, que significa
Grande Mar Redondo. Uma cidade que conserva as caractersticas dos primeiros
colonizadores, os portugueses, e a nascente de toda a cultura e civilizao
paranaense. Com cerca de 120.000 habitantes, sua maioria pescadores e de
famlias tradicionais movimentam a economia ligada ao comrcio, turismo,
agricultura e pesca. Em terras parnanguaras, situa-se o Porto D. Pedro II, o maior do
Sul do pas, importante terminal de exportao do Paran.
344
Pontos Tursticos de Paranagu
Igreja de N. S. do
Rocio
Igreja de So Benedito Igreja de N. S. do Rosrio
Igreja de N. S. das
Mercs
Teatro da Ordem Fonte Velha
Casa Monsenhor
Celso
Palcio Visc. de Ncar (Cam.
Mun.)
Palcio So Jos (Pref. Mun.)
Rio Itibers
Museu de Arqueologia e
Etnologia de Paranagu
Museu do Instituto Histrico e
Geogrfico de Paranagu
Mercado Municipal
do Caf
Estao Ferroviria Mercado Municipal Brasilio Abud
Rua da Praia
Estrada de Ferro Curitiba-
Paranagu
Porto D. Pedro II
Cachoeira da
Quintilha
Ilha do Mel Ilha dos Valadares
Ilha da Cotinga Pescobrs Pesque-Pague Mata Atlntica Parque Hotel
Guaraqueaba: Com uma rea de 1.915.955 km, apresentando clima quente
durante o ano todo, fica distante 174 quilmetros de Curitiba e 10 metros acima do
nvel do mar. Tem populao aproximada de 8.000 habitantes, em sua maioria
nativos da regio que ocupam ilhas prximas e que vivem da pesca, agricultura,
fruticultura e rizicultura.
Guaraqueaba considerada rea de Proteo Ambiental.
Pontos Tursticos de Guaraqueaba
Igreja do N. S. Bom Jesus dos
Perdes
Casario Colonial Ilhas
Reserva Natural Salto Morato Mirante Serra Negra Parque Nac. do Superagui
Ponta do Morretes Morro do Quitumb Baa das Laranjeiras
Foz do Ararapira e Maruj Baa dos Pinheiros
Rios dos Patos: Trilha
Bico Torto
Morro do Sebui e Cachoeira das
4 Quedas
Ponta do Morro do
Bronze
Pontal do Paran: Criado em 1996, o municpio de Pontal do Paran abriga praias
de areia branca e fina; a prtica de passeios, mergulhos, pescarias, entre outros
esportes, favorecida nesta regio. Balnerios como Pontal do Sul, Atami,
Guarapari, Barrancos, Shangri-l, Olho Dgua, Graja, Ipanema, Porto Fino, Itapu,
Atlntico, Santa Terezinha, Canoas, Praia de Leste e Mones fazem parte deste
municpio e so atraes tursticas principalmente na temporada de vero.
345
Pontos Tursticos de Pontal do Paran: Pontal do Sul e demais balnerios e o
Centro de Estudos do Mar UFPR
Matinhos: A 3 metros do nvel do mar, com uma populao de cerca de 15 mil
pessoas (que na temporada aumenta em pelo menos 500 mil visitantes) este
municpio distante 111 quilmetros de Curitiba formado por descendentes de
portugueses, ndios (carijs) entre outros povos. Com uma rea de 215 km e
temperatura entre 18C e 22C, a cidade dedica-se ao turismo, pesca artesanal,
agricultura, comrcio, entre outras ocupaes.
Pontos Tursticos de Matinhos
Praias Balnerio de Caiob Morro do Escalvado
guas Claras Centro de Convenes de Caiob Parque Florestal Rio da Ona
Igreja Matriz Museu Ecolgico Municipal
Guaratuba: Distante 119 quilmetros da Capital, a cidade de Guaratuba ocupa uma
rea de 1.289 km com 22 quilmetros de praias. Tem clima quente o ano inteiro,
apresentando temperaturas entre 20C (mais baixa) e 30C (mais alta). A populao
local (21.014 habitantes) descende de portugueses e de caboclos. Por ser cidade
praiana, chega a receber 800.000 pessoas no perodo de dezembro a maro. O
comrcio, a agricultura, o turismo e a pesca artesanal garantem o sustento dos
guaratubanos locais.
Pontos Tursticos de Guaratuba
Igreja Matriz de N. S. do Bom
Sucesso
P. Cel. Alexandre da Silva Mafra
Morro do
Brejatuba
Gruta Nossa Senhora de
Lourdes
Colnia de Piarras
Baa de
Guaratuba
Praias Pedras de Caieiras Prainha
Ilhas
rea de Proteo Ambiental de
Guaratuba
Portal do Paran
Curitiba - a Capital do Estado
Uma cidade com aproximadamente 1.600.000 habitantes que vive a rotina diria das
grandes capitais brasileiras, mas que por vezes assume seu lado tradicionalista, seu
lado de cidadezinha do interior. Conta com obras inovadoras nos mais diversos
setores. No transporte, o ligeirinho; no comrcio, a Rua 24 Horas, entre tantas outras
obras espalhadas pela cidade. Ao mesmo tempo, espaos culturais, histricos, de
lazer etc., arquitetados em pocas passadas, e por vezes esquecidos pela
populao diante de tantas novidades, so restaurados e voltam a atrair o pblico
como outrora.
Roteiro turstico desta Capital Ecolgica assim conhecida mundialmente
extenso e diversificado.
346
Pontos Tursticos
A - Praas e Memoriais
Fonte Mocinhas da Cidade Fonte de Jerusalm Memorial rabe
Memorial da Cidade Memorial Chico Mendes Memorial Japons
Memorial a N.S. da Luz dos
Pinhais
Memorial Ucraniano Palcio Hyogo
Praa Borges de Macedo Praa Carlos Gomes
Praa 19 de
Dezembro
Praa Eufrsio Corra
Praa do
Expedicionrio
Praa Garibaldi
Praa Generoso Marques Praa Joo Cndido Praa do Japo
Praa Osrio Praa Oswaldo Cruz Praa Rio Iguau
Praa Rui Barbosa Praa Santos Andrade Praa Tiradentes
Praa 29 de Maro Praa Zacarias
B - Parques
Bosque Alemo Bosque da Boa Vista Bosque Gutierrez
Bosque do Capo da Imbua Bosque da Fazendinha Bosque Italiano
Bosque Joo Paulo II Bosque de Portugal Bosque do Pilarzinho
Bosque Reinhard Maack Bosque dos 300 Anos Bosque Zanelli
Horto Municipal da
Barreirinha
Horto Municipal do
Guabirotuba
Jardim Botnico
Passeio Pblico Parque Barigi Parque da Barreirinha
Parque Caiu Parque Diadema
Parque Iber de
Mattos
Parque do Iguau
Zoolgico
Parque do Passana Parque das Pedreiras
Parque Tingui Parque Tangu
Parque do
Trabalhador
Parque So Loureno Parque dos Tropeiros
C - reas Histricas e Culturais
Catedral Baslica Menor de
Curitiba
Igreja da Ordem Igreja do Rosrio
Largo da Ordem Runas de So Francisco Castelo Lupion
Edifcio Garcez Solar do Rosrio
Fundao Cultural de
Curitiba
Palcio Avenida Canal da Msica Palacete Leo Jnior
Sociedade Garibaldi Casa Culpi Solar do Baro
347
Universidade Federal do
Paran
Museu de Arte do Paran Casa Theodoro de Bona
Casa Andrade Muricy
Conservatrio de MPB
de Curitiba
Museu de Arte
Contempornea
Museu do Expedicionrio Casa Romrio Martins Museu de Arte Sacra
Museu de Histria Natural Museu Paranaense
Teatro Fernanda
Montenegro
Museu da Imagem e do Som pera de Arame
Teatro Novelas
Curitibanas
Museu Metropolitano de Artes
Teatro Paiol
Teatro Guara
Teatro Universitrio de
Curitiba
D - Outras Atraes
Centro Cvico Centro de Convenes de Curitiba Farol do Saber
Estao Plaza Show Rua da Cidadania Rua das Flores
Relgio das Flores Rua 24 Horas Santa Felicidade
Torre Mercs
Linha Turismo: criado para que o turista possa conhecer boa parte da cidade a
bordo de uma jardineira que percorre cerca de 40 quilmetros em mais ou menos
duas horas, sendo permitido o embarque e desembarque no ponto turstico que o
visitante desejar conhecer. Ao embarcar, o visitante recebe tickets que lhe daro
direito a reembarques na linha.O trajeto inclui: Praa Tiradentes (ponto inicial), Rua
das Flores, Rua 24 Horas, Centro de Convenes de Curitiba, Teatro Paiol, Jardim
Botnico, Estao Rodoferroviria, Passeio Pblico e Memorial rabe, Centro
Cvico, Bosque do Papa e Memorial Polons, Bosque Alemo, Universidade Livre do
Meio Ambiente, Parque So Loureno, pera de Arame, Parque Tangu, Parque
Tingui, Memorial Ucraniano, Portal Italiano, Santa Felicidade, Parque Barigi, Torre
Mercs e Centro Histrico.
Caminho dos Tropeiros
Desde o Rio Grande do Sul, buscando alcanar a cidade de Sorocaba em So
Paulo, os tropeiros vieram lentamente no lombo de seus cavalos e passando pelo
Paran, fizeram histria e descobriram povoados que mais tarde se tornaram
cidades, e que hoje fazem parte do roteiro turstico paranaense.
Seguem-se as cidades, por ordem de descobrimento.
Rio Negro: Situa-se na divisa com Santa Catarina. Foi fundado em 26/07/1828;
um dos principais plos madeireiros. Busca resgatar a memria do municpio
valorizando a cultura e a histria. Com uma populao total de 29.027 habitantes,
fica a 109 quilmetros da capital. A rea total de seu municpio de 629.347Km.
Pontos Tursticos de Rio Negro
Parque Ecoturstico de So Luiz de
Tolosa
Motocross
Seminrio Serfico So Luiz de
Tolosa
Kartdromo Biacross
348
Campo do Tenente: Caracteriza-se por conservar a cultura e as razes de seu povo.
Seus imigrantes na maioria poloneses dedicam-se agricultura; o municpio abriga o
nico mosteiro da Ordem Cisterciense Trapista. A religio (catlica) seguida pela
populao local. Quando das paradas, a regio servia aos tropeiros o pouso durante
a noite.
Ponto Turstico de Campo de Tenente: Mosteiro da Ordem Cisterciense
Trapista
Lapa: A explorao da erva-mate, desenvolvida pelos tropeiros, fez a histria
econmica desta terra. Atualmente suas atividades econmicas so diversificadas,
nelas incluindo o turismo. Em 1797, sob a jurisdio de Curitiba, chamava-se Santo
Antnio da Lapa. Hoje com 40.293 habitantes, ocupa uma rea de 2.145.35km. A
71 quilmetros de Curitiba, ainda guarda fatos da histria paranaense. Fato
importante ocorrido nesta cidade foi o Cerco da Lapa.
Pontos Tursticos da Lapa
Parque Estadual do Monge Gruta do Monge Patheon dos Heris
Igreja Matriz de Santo
Antnio
Casa de Cmara e
Cadeia
Santurio de So
Benedito
Casa Vermelha Theatro So Joo Museu de Armas
Monumento ao Tropeiro Casa Lacerda
Porto Amazonas: O municpio situa-se margem direita do Rio Iguau;
desenvolveu-se como a maioria das cidades paranaenses, com o ciclo ervateiro;
atualmente vive da produo macieira que sustenta o municpio. Conta com uma
populao de 3.790 habitantes a 96 quilmetros do grande centro urbano, em uma
rea de 190.613 km.
Pontos Tursticos de Porto Amazonas
Perau do Corvo Igreja do Menino Jesus Antiga Ponte Ferroviria
Pomares de Ma
Palmeira: Surgiu na regio dos Campos Gerais, com a influncia de russos,
alemes, poloneses, italianos, entre outros imigrantes. Aps a fundao da Colnia
Witmarsum, os alemes e os demais povos seguiram para conquistar novos locais,
chegando ento a Palmeira que hoje ocupa 1.449.61km da rea do Estado longe da
Capital a 85 quilmetros, vivendo l 30.899 habitantes. Conserva-se at hoje pacata,
mantendo suas tradis culturais e histricas.
Pontos Tursticos de Palmeira
Cachoeira do Braz Colnia Ceclia Museu Histrico
Santurio do Senhor Bom Jesus do
Monte
Usina do Salto
Capela do Senhor Bom
Jesus
Casaro-Chcara da Palmeira
Colnia
Witmarsum
Capela de N.S. da Neves
Igreja de N.S. da Imaculada
Conceio
349
Ponta Grossa: Caminho obrigatrio e pouso dos tropeiros, composta por formaes
geolgicas inigualveis, como os Arenitos, as Furnas, a Lagoa Dourada; abriga a
118 quilmetros da capital, 270.971 habitantes em uma rea de 1.947.50Km rica
em outras belezas naturais.
Pontos Tursticos de Ponta Grossa
Parque Estadual de
Vila Velha
Buraco do Padre
Centro de Eventos Cidade de
Ponta Grossa
Rio So Jorge
Santurio Ecolgico do
Botuquara
Museu dos Campos Gerais
Castro: Em sua rea de 2.674.61km, abriga saltos, morros, grutas e outras riquezas
a 139 quilmetros de Curitiba. Colonizada inicialmente por imigrantes holandeses e,
posteriormente, por outros imigrantes europeus que deram sua contribuio para
que hoje a cidade abrigue 61.496 habitantes. O municpio conta com construes
feitas por escravos por volta de 1704 (Igreja Matriz de Nossa Senhora de SantAna).
Desenvolve-se a agricultura, o comrcio e o turismo na regio.
Pontos Tursticos de Castro
Fazenda Capo Alto Museu do Tropeiro Rio Iap
Igreja Matriz de N.S. de SantAna Morro do Cristo Canyon do Guartel
Parque Lacustre Prainha Gruta da Caveira
Gruta do Pinheiro Seco Gruta Olho Dgua Gruta da Barrinha
Gruta da Lagoa dos Alves Gruta das Pedras Gruta do Paiol do Meio
Catedral de Luzes - -
Pira do Sul: Com seu povoamento iniciado no Sculo XVII, a antiga fazenda no
vale do Rio Pira, longe 192 quilmetros de Curitiba, abriga 20.596 habitantes em
1.437.37km. Na Fazenda das Cavernas, na localidade de Serra das Furnas, podem
ser encontradas pinturas rupestres nas rochas de arenito das Furnas, identificando a
presena de povos pr-histricos.
Pontos Tursticos de Pira do Sul
Santurio de N.S. de
Brotas
Igreja do Senhor Menino
Deus
Igreja de So Jos
Operrio
Colgio Santa Marcelina Fazenda das Cavernas
Jaguariava: Considerada como a Capital do Papel Impresso, teve importante
participao na Revoluo de 1930. Fica a 236 quilmetros da capital; trata-se de
uma regio singular, em seus 1.748.42km apresenta formaes geolgicas e
topogrficas atraindo turistas de todos os locais. Sua populao, de 27.197
350
habitantes, contempla uma Nossa Senhora Aparecida esculpida em um paredo de
arenito.
Pontos Tursticos de Jaguariava
Escarpa da Serra de
Furnas
Rio Jaguariava
Cascata do Lago
Azul
Vale do Cod Poo do Inferno
Ribeiro Lajeado
Grande
Paredo da Santa
Santurio do Senhor Bom Jesus da
Pedra Fria
Sengs: ltimo pouso dos tropeiros em terras paranaenses as margens do Rio
Itarar. 1.357.81km de reas montanhosas compostas por trilhas, reflorestamento e
formaes geolgicas. A gastronomia um dos pontos fortes da regio. 274
quilmetros separam Curitiba de Sengs e de seus 19.502 habitantes.
Pontos Tursticos de Sengs
Cachoeira do Corisco Poo do Encanto Gruta da Barreira
Gruta do Palmeirinha Salto do Rio Funil Cachoeira do Lajeado Grande
Foz do Iguau : Descoberta em 1542 por uma expedio espanhola. O efetivo
povoamento somente se deu em 1888 por brasileiros que fundaram a Colnia Militar.
Atualmente localizada a 640 quilmetros de Curitiba, e ocupando uma rea de
422.00km, sendo a maioria da populao total (267.473 habitantes) moradores da
rea urbana de Foz do Iguau.
Pontos Tursticos de Foz do Iguau
Parque Nacional do
Iguau
Parque da Aves Mineral Park
Itaip e Ecomuseu Zoolgico Municipal Parque da Barragem
Marco das Trs
Fronteiras
Espao das Amricas Ponte da Amizade
Ponte Tancredo Neves Catedral de So Joo
Praia Artificial
Universidade das Amricas
Macuco Safri
351
Cavernas do Paran
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pr7.html#cavernas
Maiores Cavernas
Nome Coordenadas Geogrficas Municpio
Varzeo (gruta do ) 24 37' 56S/4930' 08W Dr. Ulisses
Lancinha (gruta da ) 25 09' 55S/4917'05 W Rio Branco o Sul
Pinheirinho (gruta do) 25 00'16 S/4938'07W Campo Largo
Conjunto Jesuta/Fada 2503'00S/4904'20W Cerro Azul
Terra Boa (gruta de) 2512'57S/4931'23W Alm. Tamandar
Pinhalzinho(gruta do ) 2424' 09 S/4916' 39W Sengs
Paiol de Capim (em. do) 2444' 25 S/ 4907'11W Cerro Azul
Pinheiro Seco (gruta do ) 2443'40 S/ 4914'56W Castro
Campestrinho (gruta do ) 2511'11S/4914' 56W Rio Branco do Sul
Itaperussu (gruta do) 2513'42S/4920'16W Itaperuu
Maiores Desnveis Paranaenses
Cavidade Coordenadas Geogrficas Municpio
Vila Velha I (furna de) 2513'30S/5002'30W Ponta Grossa
Vila Velha II (furna de ) 2513'31 S/5002'30W Ponta Grossa
Quase (abismo do) 2444'03S/4938'07W Adrianpolis
Vacilio III (abismo do ) 2446'21S/ 4906'23W Cerro Azul
Lancinha(gruta da) 2509'55S/4917'05S Rio Branco do Sul
Vios (abismo dos) 2443'51S/4905'12W Adrianpolis
352
Abismo do Haras (furna) 2509'12S/ 4956'40W Ponta Grossa
VacilioI (Abismo do) 2446'21S/4957'44W Cerro Azul
Buraco Grande (furna) 2509'14S/4957'44W Ponta Grossa
Pinheirinho (gruta de) 2500'16S/4938'27W Campo Largo
Degradao das Cavernas da Regio Metropolitana de Curitiba
Foi apontada a destruio de 45% das cavernas cadastradas na rea da regio
metropolitana de Curitiba. Entre as grutas destrudas por minerao, destacam-se as
seguintes:
a. Gruta da Conceio da Meia Lua
b. Grutas Samambaia Assassina, Batismo, Dvida, ltimo Suspiro, Cinco Nveis
Escura, Carrossel da Couve e Fenda do Christoph, todas essas no municpio de
Colombo
c. Grutas dos Macacos I, II, III, Rio Branco II, Campestrinho II e III, Capivara I.
Entre as parcialmente destrudas, existem outras cavernas importantes da regio:
a. Grutas do Ermid
b. Rio Branco I
c. Campestrinho I
d. gua Boa
e. Toquinhas
f. Capuava
g. Itaperussu
Nas grutas ameaadas pela expanso urbana encontram-se as seguintes:
a. 21 de Abril
b. Paiol Fundo
c. Touceira da Lago
d. Toca
Os interesses dos minerrios pem em risco as grutas Bento, Terra Boa, Pilozinho,
entre outras.
Intensas visitaes, sem controle, tambm causam alteraes ambientais no
desejadas. Por exemplo, o Parque Estadual da Gruta da Lancinha uma cavidade
natural subterrnea com dimenses notveis. a segunda maior do Estado do
Paran, com registro de cerca de 75 espcies da fauna e a segunda em
biodiversidade do Brasil. Sofre uma intensa visitao por se localizar prxima a
Curitiba.
353
Hidrografia
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pr5.html#hidrografia
Devido declividade do relevo paranaense, 92% das guas fluviais se dirigem para
a bacia do Rio Paran tornando-a a mais importante bacia do Sul do pas, com
grande potencial hidrulico. Os outros 8% seguem bacia litornea.
Fonte: Site oficial do Paran
Bacia do Rio Paran
O Rio Paran nasce em pleno tringulo mineiro, da confluncia dos rios Paranaba e
Grande. Percorre cerca de 400 quilmetros, desde a foz do Rio Paranapanema at a
foz do Rio Iguau. Forma inmeras ilhas na divisa com o Mato Grosso do Sul, sendo
um bom exemplo a Ilha Grande ou Sete Quedas, com 80Km de comprimento.
Os rios Paranapanema, Iva, Piquir e Iguau, destacam-se como afluentes de
grande porte do Rio Paran.
Rio Paranapanema: percorre 392 quilmetros desde que nasce no Estado de So
Paulo. Os rios Itarar, das Cinzas, Tibagi e Pirap so afluentes importantes em
territrio paranaense.
1. Rio Itarar: faz divisa entre os Estados do Paran e So Paulo. Grande parte de
seu curso represado forma a usina paulista de Chavantes;
2. Rio das Cinzas: nasce na Serra de Furnas; recebe dois importantes afluentes, o
Rio Laranjinha (margem esquerda) e Rio Jacarezinho (margem direita);
3. Rio Tibagi: nasce nos Campos Gerais percorre 550 quilmetros tornando-se o
maior afluente do Rio Paranapanema. Recebe o Rio Pitangui (margem direita)
conhecido dos pontagrossenses e o Rio Iap formador do Canion do Guartel;
4. Rio Pirap, localizado no Norte Novo e suas nascentes nas proximidades de
Apucarana. O Rio Bandeirantes do Norte seu afluente na margem direita.
354
Rio Iva: o mais extenso rio paranaense, com 685 quilmetros. O Rio dos Patos
que nasce no Municpio de Prudentpolis seu principal formador. O Rio dos Patos,
por sua vez, ao encontrar o Rio So Joo, passa a chamar-se Iva, dirigindo suas
guas para noroeste at desaguar no Rio Paran. Principais afluentes: Corumbata e
Mouro (margem esquerda) e Alonzo (margem direita).
Rio Piquiri: nasce no Terceiro Planalto, com 485 quilmetros de extenso
aproximada. Na margem direita Cantu, Goio-Bang e Goioer so afluentes do Rio
Piquiri; j na margem esquerda, o afluente o Rio do Cobre.
Rio Iguau: vem do termo indgena gua grande e o rio paranaense mais
conhecido. Nasce no Planalto de Curitiba, prximo Serra do Mar. Aps 1.200
quilmetros, desagua no Rio Paran, servindo como divisa entre Paran, Santa
Catarina, e fronteira entre Brasil e Argentina. O Rio Iguau representa uma grande
fonte de energia hidreltrica para a Regio Sul do Brasil, gerando 12,9 milhes de
KW.
O grande atrativo do Rio Iguau so as Cataratas do Iguau descobertas em 1541,
situadas a 27 quilmetros da cidade de Foz do Iguau, com quedas de 70 metros de
altura dispostas ao longo de 2.700 metros de largura.
Afluentes do Iguau na margem direita: Potinga, Claro, Areia, Jordo, Cavernoso,
Guarani, Adelaide, Andrada, Gonalves Dias e Floriano; na margem esquerda: Rio
Negro, Jangada, Iratim, Chopim, Capanema e Santo Antnio.
Afluentes menores que desaguam diretamente na Represa de Itaip: Arroio
Gua, So Francisco, So Francisco Falso, Oco.
Cidades situadas s margens do Rio Iguau: Porto Amazonas, So Mateus do
Sul, Unio da Vitria, Porto Vitria e Foz do Iguau.
Bacia Litornea
Os rios do litoral paranaense e o Rio Ribeira pertencem bacia hidrogrfica Atlntica
do Sudeste. Os rios Ribeirinha e Aungui nascem na zona norte do Primeiro
Planalto, formando o Rio Ribeira. Este segue para leste, chegando em terras
paulistas onde conhecido como Ribeira do Iguape. O Rio Capivari represado,
juntamente com o Rio Cachoeira, segue para o litoral, atravessando um tnel de 22
quilmetros na Serra do Mar, gerando energia eltrica na Usina Parigot de Souza. A
Usina Marumbi abastecida pela Represa Vu da Noiva, formada pelo Rio Ipiranga;
a Usina Chamin alimentada pela Represa Vossoroca, formada pelo Rio So Joo
e a usina de Guaricana, suprida pela Represa do Rio Arraial.
Navegao nos Rios Paranaenses e Portos Fluviais
A prtica da navegao no propcia no Estado devido presena de cachoeiras e
corredeiras. Entre Guara (PR) e Porto Epitcio (SP), um trecho de 440 quilmetros
do Rio Paran pode ser percorrido por barcos que levam aproximadamente 20 horas
para descer e 36 horas para subir o rio. Abaixo da Represa de Itaipu at a foz do Rio
Paran na Argentina o rio volta a ser navegvel e conhecido como Esturio do Rio
da Prata.
355
Os portos fluviais na rea paranaense: Foz do Iguau, Guara, Porto Camargo, Porto
Rico, Porto Figueira, e Porto So Jos.
Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pr3.html#relevo
O Paran possui um relevo com formas de vasto planalto com uma pequena
inclinao nas direes noroeste, oeste e sudoeste do Estado.
Segundo Reinhard Maak, as terras do Estado do Paran esto agrupadas em cinco
unidades geomorfolgicas que se sucedem de leste para oeste: Litoral; Serra do
Mar; Primeiro Planalto ou de Curitiba; Segundo Planalto ou de Ponta Grossa;
Terceiro Planalto ou de Guarapuava.
Litoral
Rebaixada por falhamento marginal do antigo nvel do planalto paranaense. Este
fenmeno geolgico ocorreu na Era Cenozica ou j no final da Era Mesozica.
Mais recentemente (Pleistoceno) comeou a elevao da costa submersa,
comprovada pela areia de antigas praias, pelas colnias mortas de moluscos e pelos
sambaquis.
Na plataforma continental, aparecem alguns blocos de rochas mais resistentes,
como as ilhas dos Currais, Itacolomi, Sa, Palmas, Galhetas e parte de rochas
cristalinas da Ilha do Mel.
O litoral paranaense possui duas regies distintas: montanhosa e a baixada costeira.
Montanhosa: abrangendo morros isolados, cadeias de morros e as encostas da
Serra do Mar, sendo constituda por rochas cristalinas onde h predominncia dos
gnaisses e os granitos.
Baixada Costeira: formando uma pequena plancie constituda por depsitos
sedimentares marinhos e terrgenos recentes, com uma espessura que pode chegar
a 100 metros com predominncia de areias e argilas. Sua largura varia de 10 a 20
quilmetros, tornando-se um pouco mais larga nas proximidades da Baa de
Paranagu. As altitudes deste trecho de relevo situam-se entre 0 e 10 metros e, nos
pontos mais distantes do mar, chegam a ter 20 metros.
As baas de Paranagu e Guaratuba dividem a costa paranaense em trs setores:
Norte: pertecem as praias das ilhas de Superagi e das Peas.
Leste: faixa de praias que vai desde o lado sul da Baa de Paranagu at o lado
norte da entrada da Baa de Guaratuba, sendo que a Ilha do Mel faz parte deste
setor.
Sul: abrange as praias situadas ao sul da Baa de Guaratuba at Ilha do Sa, nos
limites com o Estado de Santa Catarina
356
Ainda aparecem como acidentes geogrficos importantes do litoral paranaense: a
ilha do Superagi, separada do continente pela Baa dos Pinheiros e pelo Canal do
Varadouro, a Restinga de Ararapira situada na parte norte da Praia Deserta.
A Plataforma Continental encontra-se no litoral como parte do relevo paranaense,
que compreende o relevo coberto pelo Oceano Atlntico, estendendo-se da linha da
costa at o limite das guas territoriais do Brasil.
Serra do Mar
As formas atuais do Serra do Mar derivam de vrios fatores: diferena de resistncia
das rochas, falhamento do relevo e de sucessivas trocas climticas.
Em alguns trechos, a Serra do Mar se apresenta como escarpa (Graciosa e Farinha
Seca). Em outros se apresenta como Serra Marginal, que se eleva de 100 a 500
metros formando blocos como Capivari Grande, Virgem Maria, rgos, Marumbi e
outros.
Primeiro Planalto
Comea na Serra do Mar e estende-se para o oeste at a escarpa Devoniana
(Serrinha, Serra de So Luiz, etc.). O primeiro planalto paranaense resultou da
eroso que rebaixou o antigo nvel de seus terrenos pertencentes era Pr-
Cambriana, compreendendo duas partes, zona norte e zona sul:
Zona Norte: com relevo mais acidentado devido ao erosiva do Rio Ribeira e
seus afluentes. Suas rochas predominantes: filitos, dolomitos, mrmores e
quartzitos. Encontram-se nesta regio as seguintes elevaes:
Serra Ouro Fino de 1.025 a 1.050 m
Serra da Bocaina de 1.200
a 1.300 m
Serra do Canha ou Paranapiacaba de 1.200 a 1.300 m
Serra do Pira de 1.080 a 1.150 m
Entre Castro e Pira do Sul (Serra do Pira) existe um quartzito resistente
denominado Planalto de Maracan.
Zona Sul: mais conhecido como Planalto de Curitiba, com formas topogrficas mais
suaves e uniformes que variam de 850 a 950 metros de altitude, e largura de 70 a 80
quilmetros. A base do relevo de origem cristalina e, na superfcie, encontram-se
argilas e areias depositadas ao longo do Rio Iguau e seus afluentes ao redor de
Curitiba.
Segundo Planalto
Denominado Planalto de Ponta Grossa ou Planalto dos Campos Gerais, possui
limites naturais sendo, a leste, escarpa Devoniana e, a oeste, a escarpa da
Esperana (Serra Geral).
357
As maiores altitudes do Segundo Planalto esto na Escarpa Devoniana (1.100 a
1.200m), declinando para sudoeste, oeste e noroeste. Os pontos mais baixos (350 a
560 m) esto situados na parte norte, ligando o segundo com o terceiro planalto.
H predomnio na formao geolgica dos terrenos sedimentares antigos da era
Paleozica, reunidos nos grupos: Paran ou Campos Gerais (Devoniano); Itarar
(Carbonfero) e Passa Dois (Permiano).
Temos tambm as rochas mais comuns como: arenitos (Vila Velha e Furnas),
folhelhos (Ponta Grossa e betuminosos), carvo mineral, varvitos, siltitos e tilitos,
aparecendo em pequenas regies rochas gneas intrusivas.
Terceiro Planalto
Situado a oeste da escarpa da Esperana forma-se o Terceiro Planalto, denominado
Planalto de Guarapuava, ocupando cerca de 2/3 da rea do Estado.
Corresponde geologicamente ao derrame de rochas eruptivas como basalto,
diabsicos, melfiros e aos depsitos de arenitos (Botucatu e Caiu), da era
Mesozica.
Tendo por base os Rios Tibagi, Iva, Piquiri e Iguau, o Terceiro Planalto pode ser
dividido nos seguintes blocos:
Planalto de Cambar e So Jernimo da Serra: ocupando parte do nordeste do
Paran, entre o rio Tibagi, Paranapanema e Itarar. Suas altitudes variam entre
1.150m., na escarpa da Esperana, e 300 metros, no rio Paranapanema.
Planalto de Apucarana: situa-se entre os Rios Tibagi, Paranapanema, Iva e
Paran. Atingindo altitudes de 1.125m. na escarpa (serras do Cadeado e Bufadeira),
com declnio para 290m., ao atingir o Rio Paranapanema. O mesmo acontece em
direo oeste, quando atinge uma altitude de 235m. no Rio Paran.
Planalto de Campo Mouro: situa-se entre os rios Iva, Piquiri e Paran. Atingindo
altitudes de 1.150 metros na escarpa da Esperana, declinando para 225 metros no
Rio Paran.
Planalto de Guarapuava: localiza-se entres os rios Piquiri, Iguau e Paran,
constituindo a zona de mesetas, com altitude de 1.250 metros na escarpa da
Esperana, com declnio em direo oeste para 550 metros e 197 metros no rio
Paran.
Planalto de Palmas: compreende terras que ficam na parte norte do divisor de
guas dos rios Iguau e Uruguai, com altitudes que vo de 1.150 metros, diminuindo
para 300 metros medida que se aproximam do vale do Rio Iguau.
Cuestas: formadas por relevo resultante da eroso regressiva e que apresentam um
lado escarpado e o outro em declive suave. Os planaltos paranaenses se separam
por dois conjuntos de cuestas: escarpa Devoniana e a Esperana.
As duas vm do Estado de So Paulo, entrando pelo norte e pelo nordeste do
Paran e, seguem em direo sul.
358
Clima
O Paran localizado na regio de clima subtropical, com temperaturas amenas, e
tem pequena parte na regio de clima Tropical.
A amplitude trmica anual do Estado varia entre 12 e 13C, com exceo do litoral,
onde as amplitudes trmicas variam de 8 a 9C
O Paran no apresenta uma estao seca bem definida. As menores quantidades
de chuvas esto no extremo noroeste, norte e nordeste do Estado e as maiores
ocorrem no litoral, junto s serras, nos planaltos do centro-sul e do leste paranaense.
De acordo com a classificao de Kppen, no Estado do Paran domina o clima do
tipo C (Mesotrmico) e, em segundo plano, o clima do tipo A (Tropical Chuvoso),
subdivididos da seguinte forma:
a. Af Clima Tropical Supermido, com mdia do ms mais quente acima de 22C e
do ms mais frio superior a 18C, sem estao seca e isento de geadas. Aparece
em todo o litoral e no sop oriental da Serra do Mar.
b. Cfb Clima Subtropical mido (Mesotrmico), com mdia do ms mais quente
inferior a 22C e do ms mais frio inferior a 18C, sem estao seca, vero brando e
geadas severas, demasiadamente freqentes. Distribui-se pelas terras mais altas
dos planaltos e das reas serranas (Planaltos de Curitiba, Campos Gerais,
Guarapuava, Palmas, etc).
c. Cfa Clima Subtropical mido (Mesotrmico), com mdia do ms mais quente
superior a 22C e no ms mais frio inferior a 18C, sem estao seca definida, vero
quente e geadas menos freqentes. Distribuindo-se pelo Norte entro, Oeste e
Sudoeste do Estado, pelo vale do Rio Ribeira e pela vertente litornea da Serra do
Mar.
Solos
a. Solo, camada mais externa, rica em matria orgnica, minerais e
microorganismos;
b. Subsolo, espcie de reserva dos elementos que compem o solo;
c. Rocha matriz, a rocha que se origina o solo.
O solo pode ser eluvial, ou seja, as rochas do local se decompem; ou aluvial,
quando agentes naturais (chuva, vento, rios) transportam o material acumulado de
um local para outro.
O principal elemento do solo o mineral. Ele quem vai determinar o tipo de solo de
cada local. Conforme a quantidade de mineral existente em determinada rea,
saberemos se o solo argiloso, arenoso ou calcrio. Outros elementos qumicos
tambm so importantes, pois sem eles as plantas no cresceriam. So eles:
nitrognio, potssio, oxignio, clcio, fsforo, etc.
Principais tipos de solos do Estado do Paran:
359
Solos de Mangue: solos extremamente frgeis de origem sedimentar flvio-
marinha, constitudos geralmente por material areno-sltico-argiloso, rico em matria
orgnica, hidromrfica, salina, com alta capacidade de troca de ctions e elevada
condutividade eltrica. Ocorre na foz de rios, em ambientes flvios-marinhos em
locais de guas tranqilas. Por estarem sujeitos ao fluxo e refluxo das mars,
tornam-se extremamente instveis e necessitam da proteo constante de sua
cobertura vegetal original. Inserem-se em um ecossistema de importncia
fundamental no controle do entulhamento do fundo de baas, na depurao de
resduos orgnicos e na cadeia trfica.
Areias quartzosas: constitudas essencialmente por partculas arenosas (slica) na
proporo de 85% ou mais, so muito pobres em nutrientes e apresentam baixa
capacidade de reteno de gua, sendo que tais caractersticas so exclusivamente
dependentes da matria orgnica presente. Podem ser hidromrficas ou no.
Ocorrem geralmente no litoral em rea de antiga influncia marinha e em regies de
arenitos.
Podzis: no Paran so de textura essencialmente arenosa, diferindo das areias
quartzosas por apresentarem um horizonte de perda (eluvial) logo abaixo do
horizonte A e um horizonte de acumulao de matria orgnica em profundidade.
Este processo faz dos Podzis solos mais pobres em nutrientes e com maiores
limitaes de uso que as areias quartzosas. Sua ocorrncia maior no Estado prende-
se ao litoral, inclusive em ilhas, e a sua estabilidade est na ntima dependncia da
manuteno da cobertura vegetal original.
Solos Orgnicos: constitudos essencialmente por resduos orgnicos em vrios
estgios de decomposio depositados sob condies anaerbicas em locais
abaciados. Tm densidade muito baixa, o que lhes confere um grau de
trafegabilidade muito reduzido. Sua composio orgnica os predispem
sobremaneira subsistncia (rebaixamento superficial) quando drenados, em funo
da contrao de volume por remoo de gua, ao que se segue intensa
mineralizao.
Solos Aluviais: derivados de sedimentos aluviais, ocorrem principalmente nas
margens dos rios e so constitudos por um horizonte superficial A, sobrejacente a
camadas de composio fsica e qumica distintas, transportadas pelo rio e que no
guardam entre si nenhuma relao pedogentica. Assim como os solos de mangue,
e os solos orgnicos, quando ocorrem nos diques marginais dos rios, no devem ser
destitudos de sua cobertura vegetal original para sua conservao e qualidade da
gua.
Solos gleis:solos minerais, hidromrficos, derivados de sedimentos alvio-
coluvionares que ocorrem em relevos cncavos. Apresentam hidromorfia intensa
expressa por horizonte glei (cinza) dentro dos 50 cm superficiais formado por
reduo e/ou remoo do ferro. Podem ser de textura argilosa ou mdia, com
fertilidade varivel; encontram-se tanto sob florestas ciliares como em locais mais
interiorizados no plano aluvial.
Cambissolos de sedimentos alvio-coluvionares: ocupam as superfcies
quaternrias em cotas altimtricas no sujeitas a inundaes. So essencialmente
minerais; sua fertilidade diversa e est atrelada ao material que lhe deu origem
alm do tipo e intensidade dos processos de transporte e sedimentao.
360
Cambissolo gleico: situa-se quase nas mesmas cotas altimtricas que os
cambissolos, embora em cotas altimtricas mais baixas. Difere dos cambissolos por
apresentarem indcios de gleizao ou gleizao evidente entre 50 e 100 cm. Por
este fato, considerado semi-hidromrfico. Embora haja similaridades pedolgicas
entre estes, a cobertura vegetal existente significativamente distinta quanto maior
for a hidromorfia.
Solos litlicos: solos no hidromrficos rasos, constitudos por horizonte A e
rocha viva, ou alterada ou sobre horizonte C. Ocorrem geralmente em relevo forte
ondulado e montanhoso e podem originar-se dos mais variados materiais. Por isso,
suas caractersticas morfolgicas, fsicas e qumicas so bem variadas. Podem ter
textura mdia e argilosa, com ou sem cascalhos, sendo que algumas vezes so
pedregosos e rochosos.
Cambissolos: compreendem solos minerais, no hidromrficos, pouco
desenvolvidos. Situam-se em ambientes de encostas. Podem estar associados aos
latossolos, podzlicos e solos litlicos. Devido a estas diferenas, podem ser
subdivididos em rasos, pouco profundos e profundos. Quanto fertilidade, so
bastante variveis e dependem do material de origem.
Podzlicos:solos minerais, no hidromrficos, com horizonte subsuperficial B,
caracterizados por apresentarem incremento de argila em relao ao horizonte
superficial A. Podem ser considerados como solos bem desenvolvidos. Com
exceo de rochas efusivas, como basalto e diabsio, podem ser derivados de
inmeros materiais geolgicos.
Terras roxas estruturadas e terras brunas estruturadas: solos minerais, no
hidromrficos, com horizonte subsuperficial B derivados de rochas efusivas bsicas
(basalto e diabsio). Apresentam-se argilosos e com teores mais elevados de ferro e
tambm fertilidade mais alta. Normalmente no Estado do Paran as terras brunas
so consideradas como solos de altitude (acima de 800 m.), embora possam ocorrer
em regies mais baixas.
Brunizem avermelhado: envolve solos minerais, no hidromrficos, de alta
fertilidade natural. Apresentam cerosidade forte e normalmente encontra-se em
relevos movimentados, em situaes bastante localizadas, prximo ou associado
aos solos litlicos e a terras roxas estruturadas sobre basaltos.
Latossolos: solos minerais profundos, extremamente desenvolvidos, com horizonte
B latosslico, normalmente ocorrendo em relevos mais suaves, embora possam,
em situaes espordicas, ser encontrados em relevos montanhosos (Serra do Mar).
Sua fertilidade varivel, dependendo do material de origem.
Vegetao
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pr4.html#vegetacao
No Paran ocorrem quatro regies fitoecolgicas: a Floresta Ombrfila Densa
(Floresta Atlntica), a Floresta Ombrfila Mista (Floresta com Araucria), Cerrado
(Savanas) e Floresta Estacional Semidecidual; alm das reas de Formaes
Pioneiras: Vegetao com Influncia Marinha (Restingas), Vegetao com Influncia
361
Fluviomarinha (Manguezal e Campo Salino), Vegetao com Influncia Fluvial
(Comunidades Aluviais).
Manguezal (Vegetao com influncia Fluviomarinha)
O manguezal uma comunidade microfaneroftica de ambiente salobro, situada na
desembocadura de rios e regatos do mar, onde, nos solos limosos, cresce uma
vegetao especial, adaptada salinidade das guas.
As dunas interiores que separam as plancies costeiras do mar so como diques que
impedem o escoamento para o mar da gua doce que desce das serras. Essa gua
ento se acumula por trs das dunas, em depresses que podem estar sujeitas s
mars. A gua do mar a retida mistura-se com a gua doce. Ocorre a floculao de
colides que se depositam nessas depresses. Constitui-se, assim, o ambiente dos
manguezais.
As condies predominantes mais caractersticas so: solo alagado, movedio,
pouco arejado e com alta salinidade. Estas condies so muito severas para as
plantas, e por isso somente poucas espcies so simultaneamente tolerantes a
todas elas. Assim, em todas as regies tropicais do mundo, onde quer que ocorra
litoral limoso, ele ocupado por vegetao de manguezal. Das caractersticas
mencionadas, duas funcionam como fatores essenciais condicionantes vegetao:
o elevado teor salino e a escassez de oxignio (decorrncia do mau arejamento).
Assim sendo, elimina-se a possibilidade de ocorrncia de uma flora rica.
Rhizophora mangle, Avicennia tomentosa e Laguncularia racemosa so as trs
espcies mais importantes no Brasil. As plantas de Rhizophora ficam nas partes
mais baixas. Formam um enorme nmero de razes de escora que partem do tronco;
ramificam-se principalmente, mesmo fora do solo, por vezes, e finalmente atingem o
solo onde se ramificam muito, permitindo assim um melhor sistema de fixao da
planta. Os indivduos de Avicennia formam razes respiratrias (pneumatforos),
ricas em tecido parenquimtico cheio de amplas lacunas, as quais funcionan como
reservatrio de ar. Esses pneumatforos atingem e chegam mesmo a ultrapassar o
nvel das mars mais altas. Neles se encontram poros (pneumatdios) por onde se
efetuam as trocas gasosas com o meio. As plantas de Laguncularia crescem nos
locais mais altos, mas apenas aqueles atingidos pela preamar.
A concentrao de sal no solo oscila, encontrando-se as maiores quantidades no
centro do manguezal, onde somente as mars altas atingem. Nas demais partes do
manguezal, o solo est sempre molhado e por isso o teor salino igual ou inferior ao
da gua do mar.
Restinga (Vegetao com influncia Marinha)
As comunidades vegetais que recebem influncia direta das guas do mar
apresentam-se como gneros caractersticos das praias: Remirea e Salicornea. So
caracterizadas por plantas escandentes e estolonferas que atingem as dunas,
contribuindo para fix-las. Nas dunas, a comunidade vegetal apresenta-se dominada
por nanofanerfitos, onde o Schinus terebinthifolius e a Lythraea brasiliensis
imprimem a ela um carter lenhoso. Destacam-se tambm os gneros
Erythroxylon,Myrcia,Eugenia e outros. As diferentes espcies vo sucedendo
medida que se caminha do mar para o interior. Nas dunas da praia a vegetao
362
formada principalmente por plantas herbceas com caules longos e flexveis que se
arrastam pela areia. Atrs delas, aparece uma vegetao mais densa, formada por
moitas que se transformam em rvores cada vez mais altas conforme se distncia
do mar. So comuns nessa faixa as bromlias, os cactos e outros arbustos. Em
alguns locais, atrs dessa floresta seca, pode surgir uma regio mais alagada, os
brejos ou lagunas, onde predominam as plantas aquticas.
Os solos extremamente arenosos no conseguem reter gua e nutrientes em grande
quantidade para a sobrevivncia das plantas, sendo necessria a adaptao de
mecanismos de obteno de gua (razes superficiais extensas) e de nutrientes,
retirados da maresia presente na atmosfera.
Como os manguezais, as restingas se estendem por quase toda a costa brasileira,
numa extenso total de quase 5000 Km.
Floresta Ombrfila Densa (Floresta Atlntica)
Tipo de vegetao caracterizada por fanerfitos, cujas alturas mdias variam de 20 a
30m., em funo das caractersticas locais, alm de lianas lenhosas e epfitos em
abundncia que os diferenciam das outras classes de formaes.
Sua caracterstica ecolgica principal reside nos ambientes ombrfilos, que marcam
a regio. Assim sendo, a caracterstica ombrotrmica da Floresta Ombrfila Densa
est presa aos fatores climticos tropicais de elevadas temperaturas (mdias de
25C) e de alta precipitao bem distribuda durante o ano, 2000 a 3000 mm, o que
determina uma situao bioecolgica praticamente sem perodo biologicamente seco
(0 a 60 dias secos). A ocorrncia de geadas eventual, portanto as rvores em geral
no apresentam mecanismos de proteo contra seca e/ou frio, assim como
reduzido o nmero de espcies deciduais.
Em mdia acima de 1000 a 1200 metros de altitude, o agravamento das condies
ambientais, impresso basicamente por aspectos climticos e edficos, influi
significativamente sobre a vegetao florestal. As rvores reduzem em altura e
dimetro, quando ento compem matinhas muito densas de estrutura e florstica
extremamente pobres. Em meio a esta matinha encontram-se os campos litlicos de
altitude (refgios), em terrenos movimentados, com solos muito rasos, povoados de
blocos rochosos e ocupados por vegetao gramneo-lenhosa pontilhada de
pequenos capes.
No Estado do Paran, a Floresta Ombrfila Densa ocorre na regio leste, distribuda
pela plancie litornea e na faixa serrana subseqente, que se desenvolve
paralelamente linha da costa (Serra do Mar). De acordo com o gradiente
topogrfico encontrado, a Floresta Ombrfila densa no Paran pode ser dividida em
5 sub formaes:
1. Floresta Ombrfila Densa de Terras Baixas ou da plancie litornea;
2. Floresta Ombrfila Densa Submontana;
3. Floresta Ombrfila Densa Montana;
4. Floresta Ombrfila Densa Altomontana;
5. Floresta Ombrfila Densa Aluvial (marginais dos rios).
363
Floresta Ombrfila Densa de Terras Baixas ou da Plancie Litornea
Formao que ocupa, em geral, as plancies costeiras, capeadas por tabuleiros
pliopleistocnicos. Estes tabuleiros apresentam florstica tpica caracterizada por
ecotipos dos gneros Ficus, Alchornea, Tabebuia e pela ochlospcie Tapirira
guianensis. A partir do Rio So Joo (RJ), esta formao ocorre nos terrenos
quaternrios, em geral situados pouco acima do nvel do mar nas plancies formadas
pelo assoreamento, devido eroso existente nas serras costeiras e nas enseadas
martimas. Nesta formao dominam duas ochospcies: Calophylum brasiliensis, a
partir do Estado de So Paulo para o sul at a costa Centro-sul de Santa Catarina, e
Ficus organensis, acabando sua ocorrncia s margens da lagoa dos Patos, no Rio
Grande do Sul.
A plancie litornea do Estado do Paran, formada na era cenozica do Perodo
Quaternrio, apresenta clima Tropical Supermido sem estao seca, tipo Af
segundo a classificao de Kppen. A mdia das temperaturas dos meses mais
quentes superior a 22 graus e a dos meses mais frios, superior a 18 graus. O
relevo tipicamente plano, sendo o embasamento geolgico constitudo de aluvies,
sedimentos inconsolidados e arenitos carbonatados, com solos do tipo Podzol com
hstico e orgnico, comuns nas comunidades vegetais das restingas.
Sua composio e estrutura so geralmente condicionadas pela drenagem e
fertilidade do solo. A espcie da famlia Bignoniaceae (famlia naturalmente
distribuda em regies tropicais e subtropicais), e a Tabebuia cassinoides (caxeta)
so caractersticas de depresses suaves e margens de rios da plancie litornea
geralmente sujeitas inundao permanente. Os caxetais ocorrem desde
Pernambuco at o Paran em altitudes mdias de 30 metros acima do nvel do mar
e entre latitudes de 7 a 25 graus Sul e longitudes de 40 e 32 graus Oeste.
O ambiente de estabelecimento da caxeta um solo orgnico, constitudo
principalmente por resduos orgnicos em vrios estgios de decomposio
depositados sob condies anaerbicas em locais abaciados. Possui horizontes
hsticos, com teores de carbono maiores ou iguais a 8% e espessura mnima de 40
cm. Sua composio orgnica o predispe sobremaneira subsidncia
(rebaixamento superficial) quando drenados, em funo da contrao de volume por
remoo de gua, ao que segue intensa mineralizao.
Floresta Ombrfila Densa Submontana
Formao florestal que apresenta fanerfitos de alto porte e com alturas
aproximadamente uniformes. caracterizada tambm por ecotipos que variam
influenciados pelo posicionamento dos ambientes de acordo com a latitude. Ocupa
reas de solos relativamente profundos das encostas, com sub-bosque formado por
plntulas de regenerao natural, poucos nanofanerfitos e camfitos, palmeiras de
pequeno porte e lianas herbceas.
Situa-se aproximadamente entre 50 e 600 metros. Os solos pertencentes a esta
regio so cambissolos, muitas vezes licos e com poucas reservas de nutrientes.
So essencialmente minerais, com horizonte B cmbico, no hidromrficos, e de
textura bastante varivel.
Algumas das espcies caractersticas desta regio so: Alchornea triplinervea,
Schizolobium parahyba (ocupa o dossel superior da floresta), Vochysia bifalcata
364
(espcie caracterstica da Floresta Ombrfila Densa das terras baixas e
submontanas, ocupando o estrato superior e intermedirio, sendo abundante e
freqente).
Floresta Ombrfila Densa Montana
Formao florestal situada entre 600 - 1200 metros. Sua estrutura mantida at
prximo docume dos relevos dissecados, quando solos delgados ou litlicos
influenciam no tamanho dos fanerfitos, que se apresentam menores. A regio
apresenta um clima subtropical mido do tipo Cfa, mesotrmico com veres quentes,
geadas pouco freqentes, com tendncias de concentrao de chuvas nos meses
de vero, sem estao definida. A precipitao fica em torno de 1800mm anuais e a
umidade relativa do ar superior a 85%.
Em levantamentos j realizados foram encontrados os seguintes tipos de solo:
Cambissolo - solos no minerais, no hidromrficos, nos quais o intemperismo e os
processos pedogenticos atuaram com pouca intensidade.
Litlico - solos minerais, no hidromrficos e muito jovens,apresentando rochas
consolidadas ou fragmentos alterados.
Glei - solos minerais, hidromrficos. Apresentam hidromorfia intensa expressa por
horizonte glei (cinza) dentro dos 50 cm superficiais formados por reduo e/ou
remoo do ferro.
Tambm foram encontrados alguns afloramentos de rocha, cambissolos gleicos
(diferem dos cambissolos por apresentarem indcios de gleizao entre os 50 e 100
cm, isto por ocuparem cotas inferiores) e solos aluviais (ocorrem principalmente nas
margens dos rios e so constitudos por um horizonte superficial).
A Floresta Ombrfila Densa Montana caracteriza-se pela elevada densidade e
heterogeneidade florstica e por apresentar trs ou mais estratos arbreos, com
muitas epfitas (que indicam um ambiente mais mido e com rvores mais velhas) e
lianas. A vegetao que ocorre na base das encostas apresenta-se bem
desenvolvida, constituda por rvores de copas densas de espcies seletivas
higrfilas, acompanhadas de espcies indiferentes, enquanto a do meio das
encostas mais heterognea.
No alto das encostas, a vegetao mais uniforme e menos desenvolvida, devido s
condies edficas menos favorveis, com solos mais rasos e de rpida drenagem.
O porte desta floresta, de acordo com Roderjan e Kuniyoshi (1988), pode variar em
funo das diferenas edficas localizadas, sendo normalmente mais desenvolvidas
aquelas situadas em vales profundos e nos planaltos, atingindo, em mdia, de 20 a
25 metros de altura. relatado tambm que a famlia das laurceas contribui
significativamente para a composio e a fisionomia da Floresta Ombrfila Densa
Montana, enquanto que a famlia das leguminosas apresenta as rvores mais altas
da floresta.
Algumas espcies caractersticas da rea: Tibouchina sellowianna (quaresmeira da
serra); Miconia cinnamomifolia (jacatiro-au); Hieronyma alchorneoides (licurana);
Euterpe edulis (palmito); Nectranda rigida ; Alchornea triplinervia (tapi).
365
Floresta Ombrfila Densa Alto Montana
Formao arbrea mesofaneroftica com aproximadamente 20 metros de altura, que
se localiza no cume das altas montanhas sobre solos litlicos, apresentando
acumulaes turfosas nas depresses onde ocorre a floresta. Os ambientes
altomontanos, ocorrendo de 1200 a 1500m, caracterizam-se pela constante
saturao da umidade no ar e por mdias trmicas anuais s vezes inferiores a
15C. Estabelece-se ento nestes ambientes a mata nebular ou florestal
nuvgena, vegetao arbrea densa e baixa, de dossel uniforme, normalmente com
indivduos tortuosos, abundantemente ramificados e nanofoliados e revestidos de
epfitos.
O solo do ambiente altomontano influenciado diretamente pelo material de origem
do qual ele formado (rocha me), pela vegetao que cresce sobre ele e pelo
clima em que ele exposto. Nas montanhas os solos respondem tambm, em seu
processo de formao, pela queda da temperatura mdia com a elevao da
altitude, e so geralmente considerados pouco desenvolvidos.
O acmulo de matria orgnica significativo neste ambiente e, juntamente com sua
mineralizao, depende da temperatura do solo. De 0 a 20C, ocorre acmulo de
matria orgnica; entre 20 e 25C, ocorre diminuio deste acmulo pelo aumento
da intensidade da atividade microbiolgica dos solos, induzindo quebra e
mineralizao da matria orgnica.
Na maioria das regies tropicais midas, as diferenas de solo ocasionam variaes
na composio das comunidades vegetais. As mudanas do solo em um mesmo tipo
climtico promovem ntidas preferncias por parte de algumas espcies. A florstica
caracterizada por algumas espcies expressivas que ocorrem nesta floresta como
Weimnmania humilis, Drimys brasiliensis, Tabebuia catarinensis, Podocarpus
sellowii.
Floresta Ombrfila Mista (Floresta com Araucria)
Tipo de vegetao do Planalto Meridional, onde ocorria com maior freqncia.
Segundo alguns autores, situa-se na regio de ocorrncia normal de pinheiros, entre
os paralelos 21 e 30 de latitude S e entre os meridianos 44 e 54 de longitude W.
Hueck inclui a regio da Araucria s partes mais altas das montanhas do sul, aos
planaltos que atingem altitudes mdias de 600 a 800 metros, com alguns poucos
lugares em que ultrapassam 1000 metros. O limite inferior destas matas situa-se
entre 500 e 600 metros, nos Estados do sul, sendo que ao norte este limite situa-se
algumas centenas de metros acima.
A composio florstica deste tipo de vegetao, caracterizado por gneros
primitivos como Drymis, Araucaria e Podocarpus, sugere, face altitude e latitude
do Planalto Meridional, uma ocupao recente, a partir de refgios alto-montanos,
apresentando quatro formaes diferentes:
1. Floresta Ombrfila Mista Aluvial
2. Floresta Ombrfila Mista Submontana
3. Floresta Ombrfila Mista Montana
4. Floresta Ombrfila Mista Alto-montana
366
Floresta Ombrfila Mista Aluvial
Formao que ocupa sempre os terrenos aluvionares situados nos flvios das serras
costeiras ou dos planaltos. Caracteriza-se por ecotipos que variam de acordo com as
altitudes dos flvios. Alm da ochoespcie dominante (Araucaria Angustifolia),
tambm se encontram Podocarpus lambertii e Drymis brasiliensis, espcies estas
tpicas das altitudes.
medida que a altitude diminui, a Araucaria angustifolia associa-se a vrios ecotipos
de Angiospermas da famlia Lauraceae, merecendo destaque os gneros Ocotea e
Nectandra entre outros de menor expresso, nas disjunes serranas da
Mantiqueira.
As espcies caractersticas desta formao, nas reas prximas de rios, apresentam
maior nmero de epfitas e brifitas. Os solos se caracterizam por uma gleizao
(situao de transio), comportando acima uma Floresta de Vrzea, vulgarmente
chamada de Branquilhal, onde Branquilhos ocupam significativamente a rea. Em
relao Floresta Ombrfila Densa, pode-se dizer que a diversidade diminui desta
para a Floresta Ombrfila Mista.
Floresta Ombrfila Mista Submontana
Formao atualmente encontrada na forma de pequenas disjunes localizadas em
vrios pontos do Craton Rio Grandense. Nestas disjunes poucos remanescentes
da floresta primitiva que ainda restam, o que se observa uma floresta secundria,
com rarssimas espcies de Araucria.
As espcies que podem ser encontradas nesta floresta secundria so canelas,
imbuias, nectandras, e ainda componentes das famlias Lauraceae, Myrtaceae,
Leguminosae e outras. Predominam os latossolos profundos, e onde ocorre uma
hidromorfia acentuada a Araucria desaparece.
A diversidade diminui pela falta de umidade, existem poucas brifitas e epfitas.
Floresta Ombrfila Mista Montana
Esta formao encontrada atualmente em poucas reservas particulares e no Parque
Nacional do Iguau ocupava quase que inteiramente o planalto situado acima dos
500 m de altitude, nos Estados do Paran, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul.
Podia-se observar a Araucaria angustifolia ocupando e emergindo da submata de
Ocotea pulchella e Ilex paraguariensis acompanhada por Cryptocarya aschersoniana
e Nectranda megapotamica. Ao norte do Paran, a Araucria estava associada
imbuia (Ocotea porosa).
Atualmente grandes agrupamentos gregrios desapareceram substitudos pela
monocultura intercalada de soja e trigo.
367
Floresta Ombrfila Mista Alto Montana
Localiza-se acima dos 1 000 metros de altitude, com maior ocorrncia no Parque do
Taimbezinho (RS) e na crista do Planalto Meridional, nas cercanias dos campos de
Santa Brbara no Parque de So Joaquim (SC)
A composio florstica desta formao, atualmente mais expressiva em Campos do
Jordo (SP), apresenta a dominncia de Araucaria angustifolia, que se sobressai do
dossel normal da floresta. Ela tambm bastante numerosa no estrato dominado e
a associada a vrios ecotipos, dentre os quais merecem destaque, em ordem
decrescente, os seguintes: Podocarpus lambertii e vrias Angiospermas, inclusive o
Drymis brasiliensis da famlia das Winteraceae, Cedrela fissilis das Meliaceae e
muitas Lauraceae e Myrtaceae.
No estrato arbustivo da submata, dominam as Rubiaceae e as Myrtaceae e
exemplares da regenerao arbrea de Angiospermae, faltando as Coniferales, que
esto no momento colonizando as reas campestres adjacentes.
Cerrados
As savanas do Brasil destacam-se como unidades fitofisionmicas pela sua grande
expressividade quanto ao percentual de reas ocupadas.
Ocorre vegetao de cerrado na Amaznia, no Nordeste, no Brasil Central, onde h
uma estao seca que pode perdurar de 4 a 5 meses, ocorrendo chuvas nos meses
restantes, num total que oscila em torno dos 1400-1500mm, mas ocorre tambm no
Sudeste e no Sul, com precipitaes um pouco menores, embora com temperaturas
mdias muito inferiores, havendo mesmo possibilidades de geadas freqentes e
rigorosas.
Os solos tambm variam muito em topografia, em qualidades fsicas e em
composio qumica, prevalecendo, porm, os terrenos planos. So geralmente
solos cidos e deficientes com numerosos componentes qumicos. Mesmo na
estao seca, esses solos contm bastante gua armazenada durante o perodo de
chuvas, tendo sido constatado que no falta gua para a vegetao natural. Ao
contrrio, a gua existente seria bastante para suprir as demandas de uma
vegetao mais densa e mais alta.
A vegetao do cerrado tem a aparncia de escassez de gua: as rvores e
arbustos de galhos tortuosos tm casca grossa, folhas coriceas, de superfcies
brilhantes ou revestidas por uma espessa camada de plos. Algumas parecem ter
folhas pequenas, mas so folhas grandes divididas em fololos, como no caso do
barbatimo (Stryphnodendron barbatimam) e outras leguminosas. Outras plantas
produzem em plena seca, antes das primeiras chuvas, flores ou brotos que crescem
formando novas folhas. Para isso, as plantas encontram nutrientes no solo profundo
do cerrado, de onde retiram gua com suas razes que chegam a alcanar at 18
metros de profundidade.
368
Campos
Esta formao est enquadrada como estepe gramneo lenhosa, distribuindo-se pela
regio das araucrias, onde as gramneas so predominantes e a parte lenhosa
representada por capes e matas de galeria.
Aps o segundo planalto, notam-se os afloramentos rochosos e rios com o leito
superficial, porm latossolos profundos podem ocorrer intercalados a estes
afloramentos. Acredita-se que tais campos possam ser remanescentes de um
perodo mais seco e frio, quando as florestas encontravam-se nos fundos de vales.
Sendo assim, atualmente, com o clima quente e mido, a formao da floresta seria
favorecida se no houvesse a interveno antrpica.
Quanto vegetao, a gramnea Andropogon sp. destaca-se pela abundncia e
uniformidade. Os capes geralmente so arredondados. Aqueles representantes da
Floresta Ombrfila Mista, como as florestas de galeria, tm orlas compostas por
espcies mais helifitas, principalmente guamirim do campo (Myrcia bombycina),
guamirim (Myrceugenia euosma), guamirim ferro (Calyptranthes concina), branquilho
(Sebastiania commersoniana), pau-de-bugre (Lithraea brasiliensis), aroeira (Schinus
terebinthifolius), erva mate, cana, congonha (Ilex spp.), etc. Para o centro destes
agrupamentos florestais, encontram-se as espcies menos exigentes de luz, como:
canela sassafrs (Ocotea pretiosa), ip amarelo (Tabebuia alba), pessegueiro brabo
(Prunus sellowii), imbuia (Ocotea porosa) e pinheiro (Araucaria angustifolia).
Floresta Estacional Semidecidual
Segundo o IBGE (1992), o conceito deste tipo de vegetao est condicionado pela
dupla estacionalidade climtica, uma tropical com poca de intensas chuvas de
vero, seguida por estiagem acentuada, e outra subtropical sem perodo seco, mas
com seca fisiolgica provocada pelo intenso frio de inverno, com temperaturas
mdias inferiores a 15C. Neste tipo de vegetao, a porcentagem das rvores
caduciflias, no conjunto florestal e no das espcies que perdem folhas
individualmente, situa-se entre 20 e 50%.
O tipo de solo predominante o latossolo, principalmente o roxo, que um solo
profundo de alta fertilidade, que tem como origem a calha do rio Paran. Esta
formao tambm pode estar associada a outros tipos de solos, como os arenitos
que ocorrem no noroeste do estado. Nesta regio tambm se observa o dficit
hdrico, sendo que tais caractersticas acabam refletindo na vegetao, que menos
exuberante e mais aberta.
Em sua grande maioria, compreende terrenos suaves, com solos derivados
principalmente dos derrames baslticos, com altitudes variando aproximadamente
de 100 m em Foz do Iguau at cerca de 500/600 m no norte do Paran.
Enquanto na Floresta Ombrfila Mista encontramos uma situao ombrotmica
(precipitao bem distribuda), na Floresta Semidecidual encontramos uma situao
transicional; e, seguindo mais para o oeste do estado, encontraremos uma regio
xrica.
A diversidade do estrato superior deste tipo de formao maior do que na Floresta
Ombrfila Mista devido fertilidade do solo, e podem aparecer as seguintes
369
espcies : Aspidosperma polyneurom (peroba), Ficus spp. (figueiras), Tabebuia spp.
(ips), Cedrella fissilis (cedro), Cordia trichotoma (louro pardo), Myrocarpus
frondosus (cabreva).No sub-bosque destacam-se espcies da famlia meliaceae.
No se observa a presena de bromlias devido estao desfavorvel.
370
RIO GRANDE DO SUL
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/rs.html
Histria, Povoamento e Colonizao
Inicialmente a regio era habitada por trs grupos indgenas:
j ou tapuia (remanescentes caigangues)
pampeano (charrua, minuano)
guarani
Mesmo aps o Descobrimento do Brasil (1500), estas terras no eram conhecidas
pelos portugueses, que aproximadamente um sculo aps o descobrimento l
chegaram. poca as condies geogrficas e o difcil acesso do territrio no
permitiam uma efetiva ocupao sendo que, a partir de 1626 padres jesutas
espanhis atingiram a regio e passaram a fundar aldeias com o intuito de
catequizar os indgenas locais. Alguns bandeirantes tambm aventuram-se em
busca de riquezas o que acabou por gerar conflitos com os ndios.
Durante muitos anos a regio permaneceu habitada por indgenas, jesutas e
bandeirantes que passaram a desenvolver culturas como erva-mate, madeira e
criaes como gado, cavalos, ovelhas, cabras, galinhas, porcos entre outros.
Em 1801 definiu-se as fronteiras do Rio Grande do Sul pelo Tratado de Badajoz.
Imigrantes alemes fixaram-se na regio a partir de 1824 instalando-se em
pequenas propriedades rurais, diversificando a economia.
Dentre as diversas rebelies ocorridas no estado, a Guerra dos Farrapos
(divergncias entre idealistas republicanos e federalistas) foi a mais longa, teve incio
em 1835 e terminou em 1845.
Localizao e rea Territorial
Situado na Zona Subtropical Sul, entre os
Trpicos de Capricrnio e o Crculo Polar
Antrtico, o Rio Grande o maior estado da
Regio Sul, com uma rea de 282.184 Km
2
,
incluindo 14.656 km
2
de guas interiores,
compreendendo grandes lagos que o
caracterizam.
O estado delimita-se ao Norte com Santa
Catarina, tendo como linha divisria em toda a sua extenso o Rio Uruguai. A Oeste
limita-se com a Repblica Argentina, pelo curso do Rio Uruguai e ao Sul faz fronteira
com a Repblica do Uruguai desde a barra do Rio Quara at a foz do Arroio Chu.
371
Apresenta ainda uma costa atlntica de 622 quilmetros, coberta por dunas e
salpicada de pequenas e grandes lagoas, algumas com aspectos de mares
interiores, como por exemplo a Lagoa dos Patos e a Mirim.
Seus pontos extremos situam-se a:
Norte 274244
Sul 334544
Leste 494244
Oeste 574057
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rs2.html#mapa
372
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rrs.html
373
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hrs.html
374
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/irs.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
375
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rs3.html#governo
A atual gesto estadual comandada por Germano Rigotto, governador eleito pelo
povo; Antonio Hohlfeldt o vice-governador. Segue as secretarias de governo:
Secretaria da Justica e da Segurana
Jos Otvio Germano (secretrio)
Rua Voluntrio da Ptria, 1358 - 8 Andar CEP: 90.210-016
Fone: ( 0xx51) 3288-1900
Fax: (0xx51) 3228-2776
Secretaria da Fazenda
Paulo Michelucci Rodrigues (secretrio)
Avenida Mau, 1155
CEP: 90.030-080
Fone: (0xx51) 3214-5000
Fax: (0xx51) 3227-3967
Secretaria de Obras Pblicas e Saneamento
Frederico Cantori Antunes (secretrio)
Centro Administrativo do Estado 3 Andar
Avenida Borges de Medeiros, 1501
CEP: 90.119-900
Fone: (0xx51) 3288-5600
Fax: (0xx51) 3288-5749
Secretaria da Agricultura e Abastecimento
Odacir Klein (secretrio)
Avenida Getlio Vargas, 1384
Menino Deus Porto Alegre RS
CEP: 90.150-044
Fone: (0xx51) 3288-6200
Fax: (0xx51) 3231-7979
Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais
Luis Roberto Andrade Ponte (secretrio)
Centro Administrativo do Estado 16/17 Andar
Avenida Borges de Medeiros, 1501
CEP: 91.110-150
Fone: (0xx51) 3288-1000 / 3226-3820
Fax: (0xx51) 3226-5601
Secretaria da Educao
Jos Alberto Reus Fortunatti (secretrio)
Av. Borges de Medeiros, 1501 Plataforma
CEP: 90.119-900
Fone: (0xx51) 3288-4700
Fax: (0xx51) 3225-9367
376
Secretaria da Administrao e dos Recursos Humanos SARH
Jorge Celso Gobbi (secretrio)
Av. Borges de Medeiros, 1501 2 Andar
CEP: 90.050-150
Fone: (0xx51) 3288-1200
Fax: (0xx51) 3225-7709
Secretaria da Sade
Osmar Gasparini Terra (secretrio)
Avenida Borges de Medeiros, 1501 - 6 Andar
Fone: (0xx51) 3288-5800
Fax: (0xx51) 3226-3309
Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistncia Social
Edir Pedro de Oliveira (secretrio)
Centro Administrativo do Estado 8 Andar
Avenida Borges de Medeiros, 1501
CEP: 90.119-900
Fone: (0xx51) 3228-2777
Fax: (0xx51) 3228-2833
Secretaria de Transportes
Jair Henrique Foscarini (secretrio)
Avenida Borges de Medeiros, 1555 18 Andar
CEP: 90.110-150
Fone: (0xx51) 3221-0622
Fax: (0xx51) 3224-7206
Secretaria de Minas, Energia e Comunicaes
Luiz Valdir Andres (secretrio)
Avenida Borges de Medeiros, 1501 7 Andar
CEP: 90.119-900
Fone: (0xx51) 3228-5300
Fax: (0xx51) 3226-5893
Secretaria da Coordenao e Planejamento
Joo Carlos Brum Torres (secretrio)
Avenida Borges de Medeiros, 1501 5 Andar
CEP: 90.119-900
Fone: (0xx51) 3288-1400
Fax: (0xx51) 3226-9722
Secretaria da Cultura
Roque Jacoby (secretrio)
Praa Marechal Deodoro, 148
CEP: 90.010-300
Fone: (0xx51) 3226-4578
Fax: (0xx51) 3227-4427
Secretaria da Cincia, Tecnologia e Ensino Superior
Kalil Sehbe Neto (secretrio)
Av. Borges de Medeiros, 1501 7 Andar Ala Norte
377
Centro Administrativo Fernando Ferrari
CEP: 90.119-900
Fone: (0xx51) 3225-4455
Fax: (0xx51) 3228-7774
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer
Luis Augusto Barcellos Lara (secretrio)
Avenida Borges de Medeiros, 1501 - 10 andar
CEP: 90.119-900
Fone: (0xx51) 3288-5400
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Jos Alberto Wenzel (secretrio)
Rua Carlos Chagas, 55 - 9 andar
CEP: 90.245-000
Fone: (0xx51) 3288-8100
Fax: (0xx51) 3225-9659
Secretaria Especial da Habitao e Desenvolvimento Urbano
Alceu Moreira da Silva (secretrio)
Centro Administrativo 14 Andar
Avenida Borges de Medeiros, 1501
CEP: 90.119-900
Fone: (0xx51) 3288-4600
Fax: (0xx51) 3227-6717
Secretaria Extraordinria para Assuntos de Comunicao Social
Ibsen Vals Pinheiro (secretrio)
Praa Marechal Deodoro, s/n - Subsolo
CEP: 90.010-282
Fone: (0xx51) 3210-4100
Fax: (0xx51) 3228-2405
Secretaria Especial de Combate s Desigualdades Regionais
Jos Hugo Ramos (secretrio)
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 18 Andar
Fone: (0xx51) 3225-1419
Fax: (0xx51) 3225-1419
Secretaria Especial da Reforma Agrria e Cooperativismo
Vulmar Silveira Leite (secretrio especial)
Av. Praia de Belas, 1768 - 4 Andar
CEP: 90.110-000
Fone: (0xx51) 3230-4800
rgos Ambientais
- Fundao Estadual de Proteo Ambiental FEPAM
Nilvo Luiz Alves da Silva (Diretor-Presidente)
378
Rua Carlos Chagas, 55 - 8 andar - sala 810
CEP: 90.030-020
Fone: (0xx51) 212-3998
Fax: (0xx51) 212-4089
E-mail: fepam@fepam.rs.gov.br
- Fundao de Cincia e Tecnologia - CIENTEC
- Fundao Pro-parque
- Fundao Zoobotnica do Rio Grande do Sul - FZB
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
- Secretaria da Agricultura e Abastecimento - SAA
- Secretaria do Meio Ambiente e Preservao Ecolgica - SEMAPE
- Secretaria Municipal de Abastecimento, Indstria e Comrcio - SMIC
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAM
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rs4.html#projetos
Mar-de-Dentro
Programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que visa o desenvolvimento
ecologicamente sustentvel, a recuperao e o gerenciamento ambiental das Bacias
Hidrogrficas Camaqu, Mirim-So Gonalo e Litoral-Mdio, da Regio Hidrogrfica
Litornea.
Criado atravs do Decreto Estadual N 35.237 de 06 de maio de 1994, passou por
reformulaes a partir da nova gesto do Governo do Estado, resultando em
inmeras alteraes estruturais a serem estabelecidas em novo Decreto que
encontra-se em fase de estudo.
O ano de 2001 marcou a transio do Pr Mar de Dentro da Secretaria Estadual da
Coordenao e Planejamento para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com
base na competncia legal da Sema quanto coordenao de programas de
desenvolvimento de bacias hidrogrficas, disposta na Lei n 11.362, de 29 de julho
de 1999 que deu nova redao ao artigo 8 da Lei N10.356/95.
A rea de abrangncia do programa compreende quase a totalidade da Regio
Hidrogrfica Litornea (Bacias Hidrogrficas Camaqu L30, Mirim-So Gonalo
L40 e Litoral-Mdio L20), com exceo de parte do Litoral-Norte (Bacia
Hidrogrfica Tramanda L10 e Bacia Hidrogrfica Mampituba L50).
A populao total atingida pelo Programa de aproximadamente um milho e cem
mil (1.100) pessoas, distribuda em cinqenta (50) municpios, cuja maioria est
localizada na metade sul do Estado do Rio Grande do Sul.
O Pr-Mar-de-Dentro tem como objetivo superior a constituio de um Plano Diretor
de Gesto Ambiental para o gerenciamento ambiental participativo das Bacias
Hidrogrficas Camaqu, Mirim-So Gonalo e Litoral-Mdio, da Regio Hidrogrfica
Litornea, visando o desenvolvimento ecologicamente sustentvel, no qual a
379
preservao ambiental, a gerao de emprego, a distribuio de renda e uma melhor
qualidade de vida para todos tornem-se realidade.
O Programa adotar como estratgia de interveno:
I. Aes voltadas ao planejamento regional e gerenciamento ambiental
participativos, contemplando a educao ambiental, o monitoramento ambiental, o
controle ambiental, o saneamento ambiental e a preveno do dano ambiental;
II. Aes baseadas na publicizao dos atos administrativos e das informaes
disponveis e produzidas, bem como na diviso dos trabalhos e responsabilidades
entre os diversos atores institucionais associados; e
III. Aes de carter emergencial para a minimizao dos problemas sociais e
ambientais verificados.
O Pr-Mar-de-Dentro est sendo estruturado em quatro (04) mdulos a serem
desenvolvidos em um prazo de dezesseis (16) anos.
Atualmente esto sendo planejadas aes distribudas em sete (07) Subprogramas,
os quais sero implementados em seqncia a ser definida de acordo com as
necessidades diagnosticadas, com as prioridades definidas participativamente, com
a capacidade tcnica dos rgos executores e com os recursos financeiros
disponibilizados.
Subprograma 1: Administrao e Gerenciamento
Subprograma 2: Plano de Comunicao e Informaes Geogrficas
Subprograma 3: Educao Ambiental
Subprograma 4: Desenvolvimento Urbano
Subprograma 5: Desenvolvimento Rural
Subprograma 6: Preservao do Patrimnio Ambiental e Cultural
Subprograma 7: Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional
Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/programas.htm)
380
Projeto Pr-Guaba
O Pr-Guaba um programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para
promover o desenvolvimento ecologicamente sustentvel e socialmente justo da
Regio Hidrogrfica do Guaba. O Programa, concebido em 1989 e com durao
prevista de 20 anos, surgiu a partir da conscincia ambientalista no Estado.
A primeira parte do programa (Mdulo I) ser concluda em julho de 2002, com um
investimento de US$ 220,5 milhes em projetos de tratamento de esgoto, educao
ambiental, resduos slidos, monitoramento, parques e reservas, treinamento de
recursos humanos, sistema de informaes geogrficas, plano diretor, agroecologia
e reflorestamento ambiental.
O Mdulo II, com incio previsto para o segundo semestre de 2002, prev
investimentos da ordem de US$ 495 milhes em dez anos. Os projetos esto sendo
planejados a partir do diagnstico ambiental, do plano diretor e da consulta pblica
realizada nas nove bacias hidrogrficas. O programa atinge 251 municpios e mais
de seis milhes de habitantes.
O Pr-Guaba considerado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),o
principal financiador, como o programa ambiental mais completo pois no trabalha
apenas as conseqncias da poluio mas tambm as suas causas.
A Regio Hidrogrfica
A Regio Hidrogrfica do Guaba tem 84.763,54 Km, abrangendo mais de 250
municpios em 30% do territrio gacho, onde vivem mais de 6 milhes de
habitantes, a grande maioria (83,5%) no meio urbano e 16,5% em reas rurais. A
regio formada por nove bacias hidrogrficas e responde por mais de 70% do PIB
do Rio Grande do Sul. A intensa atividade econmica - industrial e agrcola - resulta
numa acentuada presso sobre os recursos naturais. Os principais problemas
ambientais nas reas urbanas - principalmente na Regio Metropolitana de Porto
Alegre e na Aglomerao Urbana do Nordeste - so a contaminao industrial, a
disposio irregular de lixo e o lanamento de esgoto "in natura" nos rios e arroios.
Nas reas rurais, os problemas relacionam-se contaminao por agrotxicos,
desmatamento, ausncia de saneamento.
Alm de desenvolver projetos de melhoria na qualidade de vida, o Pr-Guaba est
integrando todos os setores envolvidos com a gesto ambiental no Estado,
viabilizando tambm a participao das comunidades. As decises so tomadas
pelos Conselhos Consultivo e Deliberativo, formados por secretrios de Estado,
representantes de entidades representativas da sociedade gacha e das ONGs
ambientalistas.
Visite o Site do pr-Guaba! (www.pro-guaiba.rs.gov.br)
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/proguaiba.htm)
381
Gesto Ambiental Compartilhada
O Programa de Gesto Ambiental Compartilhada Estado/Municpio desenvolvido
pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), atravs da Fundao Estadual
de Proteo Ambiental Henrique Lus Roessler (FEPAM), Departamento de
Florestas e reas Protegidas e Assessoria Tcnica uma das prioridades para o Rio
Grande do Sul, sendo uma das mais importantes deliberaes da Conferncia
Estadual de Meio Ambiente 2000, construda atravs de 11 pr-conferncias
regionais. A realizao deste processo de capacitao tambm uma antiga
reivindicao das prefeituras municipais.
O principal objetivo do programa dar condies aos municpios para que ocupem
um papel mais ativo na gesto das gesto das questes ambientais locais e gesto
compartilhada est outro aspecto fundamental: a necessidade de aes articuladas
dos governos municipais entre si e com os rgo ambientais governamentais para a
gesto de questes regionais. Com este esforo, a descentralizao do
licenciamento ambiental avanar, uma vez que j conta com regulamentao
definida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). Tambm sero
estabelecidas bases concretas para a construo do Sistema Estadual de Proteo
Ambiental (SESEPRA), com um processo descentralizado e participativo.
Conhea mais sobre a Gesto Ambiental Compartilhada:
- Cursos
- Licenciamento Municipal
- Municpios que j participaram do programa
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/gestamb.htm)
PNMA II - Gesto de Ativos Ambientais
O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) conduzido pelo Ministrio do
Meio Ambiente (MMA), sendo financiado atravs do acordo de emprstimo, entre o
Governo Brasileiro e o Banco Mundial (BIRD) e objetiva desenvolver nos Estados
projetos de gesto que integram a Poltica Ambiental com polticas setoriais,
propiciando uma maior participao dos municpios e de organizaes de sociedade
civil na gesto ambiental. Tambm visa atuar de forma descentralizada, apoiando as
diversas Unidades da Federao no fortalecimento das instituies que compem o
Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA e no incentivo gesto integrada
do meio ambiente.
O PNMA II foi configurado para ser desenvolvido em trs fases sucessivas de
implementao, no total de 10 anos.
Est estruturado em dois componentes Gesto Integrada de Ativos Ambientais e
Desenvolvimento Institucional. Este ltimo est subdividido em Licenciamento
Ambiental, Monitoramento da Qualidade da gua e Gerenciamento Costeiro.
382
No Rio Grande do Sul, a Gesto de Ativos Ambientais est sendo desenvolvida pela
e pela Fepam, atravs do projeto " Controle da Contaminao Ambiental decorrente
da suinocultura no Estado do Rio Grande do Sul."
A FEPAM executora dos subcomponentes do Desenvolvimento Institucional,
licenciamento ambiental e gerenciamento costeiro. Mais informaes:
(www.fepam.rs.gov.br).
Agente Financeiro:
Acordo de emprstimo entre o Gov. Brasileiro + Banco Internacional Para a
Reconstruo e Desenvolvimento BIRD (US$ 300 milhes para 10 anos de
execuo)
Objetivos Especficos
Implementar projetos de gesto integrada, com carter replicvel, modelos de
desenvolvimento sustentvel;
Aprofundar processo de descentralizao da gesto ambiental, fortalecendo Estados
e Municpios;
Estimular a adoo de solues inovadoras e a formao de parcerias entre o poder
publico e a sociedade civil, para a gesto ambiental;
Desenvolver e implementar sistemas de monitoramento ambiental, voltados para a
gerao de informaes que auxiliem a tomada de decises;
Desenvolver aes para aumentar a eficcia do processo de licenciamento,
integrando-o com os demais sistemas de gesto;
Fortalecer a capacidade de gesto ambiental integrada da Zona Costeira.
Mais informaes: (www.fepam.rs.gov.br)
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/pnma.htm)
383
Hidrografia e Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rs7.html#hidrografia
Hidrografia
A hidrografia sul-riograndense divide-se em duas grandes bacias. A do Uruguai, que
apenas em parte brasileira, e a do Sudeste, que a principal bacia do estado. A
bacia total do Uruguai, parte brasileira, parte argentina e parte uruguaia, estende-se
por 178.235 km
2
.
A Bacia Sudeste a mais extensa e abrange uma rea de 223.688 km
2
. Todos os
rios que desaguam na grande Lagoa dos Patos pertencem a esta ltima bacia. O
mais importante rio da Bacia sudeste o Jacu.
Como a maior parte dos rios do estado apresentam condies favorveis de
navegabilidade e formam uma rede hidrogrfica muito bem localizada no centro do
territrio sul-riograndense, tendo o Guaba e a Lagoa dos Patos como principal
desaguadouros, isto favoreceu a colonizao e o desenvolvimento econmico do Rio
Grande do Sul.
Na Bacia do Uruguai, os rios Pelotas e Canoas situam-se no extremo Leste do
Estado, renem-se para formar o Rio Uruguai, o qual recebe o Rio do Peixe e outros
e serve como principal divisa do Estado Gacho, separando-o de Santa Catarina,
depois separando-o da Repblica Argentina, em toda a extenso desta ltima
fronteira.
Das cabeceiras do Rio Pelotas at Rio da Prata, o Uruguai corre por leito de 2.046
km. Das suas nascentes at a confluncia com o rio inteiramente brasileiro; da para
frente, at a foz do Rio Quara meio argentino e meio brasileiro.
Os principais rios afluentes do Uruguai so os seguintes: Touros, Socorro, Peixe,
Passo Fundo, Vrzea, Guarita, Turvo, Santa Rosa, Iju, Piratini, Butu, Touro-Passo
e Quara. Os tributrios do Ibicu, rio mais importante dentre os afluentes do Uruguai,
so Ibirapuit, Jaguari, Cacequi, Santa Maria, Ibicuizinho e Toropi.
384
J a Bacia do Sudeste centralizada na Lagoa dos Patos, a qual lana suas guas
no Oceano Atlntico pelo canal do Rio Grande. Os rios da Bacia Sudeste podem ser
divididos no grupo dos rios do Norte e dos rios do Sul.
Das vrias regies do Norte do Estado, diversos rios convergem para o Jacu, mais
importante rio gacho, o qual desgua no Guaba, que por sua vez lana-se Lagoa
dos Patos. Dadas as condies de navegabilidade do Jacu e de alguns de seus
principais afluentes, este sistema hidrogrfico favoreceu o desenvolvimento da rica
regio colonial do Nordeste do Estado.
Por isso, o Jacu representou um importante papel na histria do estado,
promovendo sua ocupao e favorecendo seu desenvolvimento scio-econmico.
Este rio nasce prximo cidade de Passo Fundo, a 730 metros de altitude, sendo
que seu longo curso serve de limite a vrios municpios gachos. O Jacu um rio
que apresenta muitas ilhas e vrios afluentes.
Seus principais afluentes so: Ibirub, o Jacu- Mirim, o Iva, o Vacaca, o So Sep,
o Taquari, o Ca, o Sinos e o Gravata.
Na parte Sul do estado, destacam-se os rios: Jaguaro, Piratini, Camaqu, So
Loureno e Sangradouro So Gonalo, que liga as Lagoas dos Patos e Mirim, que
apresentam certas curiosidades: durante um certo perodo do ano corre de Sul para
Norte e, depois, de Norte para Sul; tambm, s vezes, se torna salgado. Tudo isto
devido condio de sangradouro, ligando as duas grandes lagoas e
transformando-as numa espcie de vasos comunicantes; assim, conforme a
variao do nvel das guas das lagoas, determinada a direo de seu curso.
O Esturio de Guaba recebe guas dos demais importantes rios do Estado, alarga-
se diante de Porto Alegre para depois lanar-se Lagoa dos Patos, permitindo a
navegabilidade at a capital do estado por navios de grande porte.
Na Lagoa do Patos a navegao feita por um canal balisado. Trata-se da maior
lagoa do Brasil, com 250 quilmetros de comprimento por 50 quilmetros de largura.
Sucedendo em tamanho a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira, situada no municpio
de Santa Vitria do Palmar.
Alm destas maiores, todo o litoral sul do estado apresenta-se pontilhado de
pequenas lagoas, entre a imensido das dunas, o que d regio aspecto peculiar,
denominado por alguns gegrafos de costa dalmtica.
Com referncia s ilhas, todas as grandes lagoas apresentam vrias delas, embora,
praticamente, no haja ilhas ocenicas no litoral do estado a no ser um pequeno
rochedo que se denomina Ilha dos Lobos, diante da praia de Torres.
Turismo
O Rio Grande do Sul apresenta interessantes possibilidades tursticas,
diferenciando-se dos demais estados brasileiros, como o estado mais frio do Pas.
Em seu territrio est localizada a maior faixa litornea contnua do planeta; as
cidades histricas, a serra gacha, que faz fronteira com a Argentina e o Uruguai.
L, a integrao de diferentes culturas so opes de visita neste estado.
A paisagem fsica e os acidentes geogrficos apresentam atrativos em vrias
regies do estado.
385
Com belas praias, cobertas por dunas, pontilhadas por lagoas e lagos, num litoral
que se estende por cerca de 622 km e que, comeando na praia de Torres, a qual
apresenta alguns penhascos de formas curiosas, passando pelo Sul, por Capo
Canoa, Atlntida, Xangril, Santa Terezinha, Imb, Tramanda, Cidreira, Pinhal,
Quinto, Cassino, vai at o Farol do Albardo e Barra do Chu, numa imensido de
mar, areia e sol. No litoral, tambm muito visitado o Canal Rio Grande, que
apresenta molhes, localizados na barra.
A regio serrana apresenta tambm grandes atrativos para os visitantes. Na encosta
superior da Serra do Nordeste do estado, situam-se cidades como Gramado e
Canela, que so verdadeiros jardins floridos, com avenidas plantadas de hortncias
e seus recantos como a Cascata do Caracol e o Parque do Lago.
O planalto serrano apresenta uma paisagem tpica da regio das araucrias, com
seus pinheirais e campos ondulados de Cima da Serra, de intensa vida campestre.
Encontra-se ali Taimbezinho, famoso canyon, localizado no municpio de Cambar
do Sul, que um dos mais belos espetculos da natureza e uma das grandes
atraes tursticas do Sul do Pas. Nessa regio, ainda encontra-se a cidade de So
Francisco de Paulo, com o seu Lago So Bernardo e a bela Barragem do Salto.
Na regio missioneira, prxima fronteira com a Argentina, o turista pode visitar as
runas dos sete povos das Misses: So Miguel, So Joo, Santo Angelo, So
Nicolau, So Loureno, So Luiz Gonzaga, So Borja.
As runas das igrejas construdas pelos jesutas e pelos ndios, nesta regio,
continuam de p, podendo ser apreciadas pelos turstas que tero, ainda, uma aula
de Histria do Brasil.
No roteiro da uva e do vinho, d-se destaque s cidades de Caxias do Sul, Flores da
Cunha, Antonio Prado, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonalves, Veranpolis,
Nova Prata e So Marcos.
Trata-se de uma regio servida por estradas asfaltadas, margeadas por rvores e
flores, percorrendo as encostas das montanhas.
A cozinha lembra as origens italianas da populao, predominando as massas e os
galetos, tudo regado pelo vinho produzido na regio.
Existem ainda no estado as estncias de guas minerais, alcalinas bicarbonatadas
dos municpios de Iju, Ita, Rondinha, Vicente Dutra, ainda na regio serrana, com
suas famosas guas de Mel e guas do Prado, recomendadas para o tratamento
de vrias molstias, para recuperao orgnica geral ou simplesmente para
descanso.
386
Relevo e Clima
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rs5.html#relevo
Relevo
H cerca de 190 milhes de anos, aquele que futuramente seria o territrio do Rio
Grande do Sul estava sofrendo profundas modificaes. Primeiro, foram os
derrames de lavas baslticas, que saam, em grande quantidade, das falhas que se
formaram em diversos pontos do sul do atual Brasil. Esses sucessivos derrames
deram origem ao Planalto Meridional do Brasil, com uma extenso total de um
milho de quilmetros quadrados. Faz parte desse planalto cerca de 50% do
territrio gacho.
Nesta poca, ou em um perodo pouco posterior, uma outra mudana de propores
tambm fenomenais comeava a ocorrer. O imenso continente de Gonduana, que
abrangia as reas que se tornariam a Amrica e a frica comeou a rachar e o mar
foi penetrando aos poucos pela rachadura, dando, assim, origem ao Oceano
Atlntico e aos novos continentes da Amrica e frica.
Tudo isto ocorria muito lentamente, mas envolvia movimentos tectnicos de fora
descomunal, provocando novos falhamentos no ento nascente continente da
Amrica. De um desses falhamentos surgiram os Aparados da Serra (com sua maior
rea no atual municpio de Cambar do Sul).
Comparando grosseiramente, foi como se algum cortasse um bolo em dois e um
dos pedaos casse no cho. O pedao que no caiu foi o dos Aparados; o que caiu
ficou embaixo do atual oceano. Mas ainda podemos ver algumas migalhas desse
pedao nos rochedos da Guarita, em Torres (principal e mais bonita praia, no litoral
norte do Estado), e na Ilha dos Lobos, que fica defronte a Torres.
Uma vez cortado o bolo, a eroso e o tempo foram realizando seu trabalho lento e,
como resultado desse conjunto de fatores, chegou-se paisagem atual dos
Aparados, com seus ecossistemas especficos e sua feio nica. Impressionado
com o que a natureza havia criado to cuidadosamente, o homem resolveu
preservar a rea e, em 1957, o Governo Estadual decretou uma parcela da rea dos
Aparados com cerca de 13.000 hectares como de utilidade pblica, para fins de
desapropriao, para instalar, ali, um parque.
Em 1959, o Governo Federal criou o Parque Nacional de Aparados da Serra,
incluindo, ento, apenas a rea que ficava no municpio de So Francisco de Paula
(e que atualmente pertence a Cambar do Sul, municpio criado posteriormente). Em
1972, esse decreto foi alterado, e incluiu-se no parque cerca de 5.000 hectares em
territrio catarinense, estabelecendo-se uma rea de 13.033 hectares.
A incluso da parte catarinense do parque (no municpio de Praia Grande) foi
importante, pois garantiu a preservao da Floresta Atlntica existente naquela rea.
No entanto, dos cerca de 12 canyons que existem na regio, apenas um se encontra
inteiramente dentro do parque: o do Itaimbezinho (cujo nome vem do tupi-guarani
Ita, que quer dizer pedra e aib, que significa afiada, cortante).
387
Os canyons esculpidos pela natureza oferecem um espetculo impressionante. O
nome de aparados d bem a idia do que se v: campos que, repentinamente, so
aparados, avistando-se paredes retos, muitas vezes de rochas nuas, de at mil
metros de profundidade. O Itaimbezinho, o mais visitado pela facilidade de acesso,
tem uma profundidade mdia de 600 metros, e estende-se por 5,8 quilmetros. Perto
de seu incio, o Arroio Perdizes se atira pela borda do canyon, formando uma
cascata que, com seus respingos, d origem a freqentes arco-ris.
O Rio Grande do Sul uma regio de plancies e colinas. A parte mais alta do
estado situa-se no campos de cima da Serra, onde a altitude mdia de 880 metros.
O ponto mais alto localiza-se na regio Nordeste e atinge, aproximadamente, 1.300
metros.
Porto Alegre, beira do Guaba, apresenta uma altitude mdia de apenas 10 metros.
A paisagem fsica do Rio Grande do Sul de uma plancie imensa, na maior parte
do seu territrio, tornando-o particularmente indicado para a atividade pastoril.
Os principais aspectos do relevo sul-riograndense podem ser descritos da seguinte
maneira. Na parte nordeste do Estado tem-se a continuao da chamada Serra do
Mar, que entra no territrio gacho prximo ao oceano, percorrendo o litoral at o
Norte de Porto Alegre, onde se direciona para o interior do estado, decrescendo a
altitude. A rea que compreende a Serra Geral, os rios da margem esquerda do Rio
Uruguai na parte Norte do estado e os rios da margem esquerda do Jacu nas suas
cabeceiras denominado Planalto.
Quanto s altitudes, o planalto rio-grandense caracteriza-se por ser mais elevado a
Leste, prximo ao oceano, onde atinge mais de mil metros, decrescendo a Leste,
onde desce menos de 100 metros, junto ao Rio Uruguai. Abaixo da regio de Caxias
do Sul, compreendendo uma faixa no sentido Leste-Oeste, surge o que denominam
encosta, que difere do planalto por apresentar-se bastante acidentada, embora
sejam ambas unidades de relevo estreitamente ligadas.
Na metade do meridional do estado, do Jacu ao Ibicu para o sul, encontra-se a
regio denominada Depresso, constituda por vasta peneplancie, onde se estende
a campanha gacha. Embora formada por terrenos antigos, uma regio baixa,
apresentando ondulaes suaves, as coxilhas sul-riograndenses. A sudeste do
Estado aparece a unidade conhecida como Escudo Riograndense, onde a altitude
gira em torno dos 400 metros.
De relevo relativamente ondulado, o bloco tem forma de um C, com as costas
voltadas para a zonas da Campanha. Tem largura litornea, plancie arenosa, com
largura bastante irregular, que abrange toda a costa, onde se verifica a menor
altitude do Estado: 2 metros, em So Jos do Norte.
O Escudo Riograndense possui uma altitude enquadrada em torno de 400 metros; o
restante do Estado est subdividido em subregies denominadas como 1e 2.
A sub-regio 1, embora constitua uma rea contnua, foi subdividida em quatro
subtipos, em virtude das diferenas topogrficas e da continentabilidade, os quais
so:
Planalto basltico inferior erodido, com altitudes compreendidas entre 400 e 800
metros
388
Periferia do bordo erodido do planalto basltico, com altitudes muito variveis
Escudo Riograndense, nas altitudes inferiores a 400 metros
Plancie sedimentar litornea-lagunar, com altitudes inferiores a 100 metros
A sub-regio 2, devido aos mesmos fatores anteriores, foi subdividida em trs
subtipos:
Plancie do Vale do Rio Uruguai e parte do planalto basltico inferior erodido, com
altitudes abai-xo de 600 metros
Peneplancie sedimentar perifrica, com altitudes inferiores a 400 metros
Vale do Rio Camaqu, com altitudes inferiores 400 metros
Clima
O clima varia nas diversas regies sul-riograndenses conforme a altitude e a
proximidade da costa martima. Nas zonas elevadas da serra os invernos so frios,
com ocorrncia de fortes geadas e s vezes neve. A mdia de temperatura para o
estado de 18C.
Janeiro e fevereiro so os meses de maior calor, e a regio mais quente o Vale do
Baixo Uruguai, tendo-se j verificado a temperatura de 42,6C em Jaguaro. O vento
mais conhecido e tradicional do Estado Gacho, o minuano ou pampeiro, oriundo
dos andes argentinos extremamente frio e seco, soprando somente no inverno.
As estaes do ano so bem definidas no Rio Grande do Sul, sendo sentidos, em
suas caractersticas peculiares, o inverno, a primavera, o vero e o outono.
O regime pluviomtrico bastante regular e as chuvas so bem distribudas durante
todo o ano no estado. A mdia pluviomtrica anual de 1.643 mm, embora haja
regies mais ou menos chuvosas. Numa apreciao rpida, pode-se dizer que a
zona mais chuvosa do estado a da Serra Noroeste, com uma mdia anual de
1.990 mm. No litoral chove menos, sendo a mdia anual de 1.330 mm.
Com referncia estiagem, raro o fenmeno de secas prolongadas, embora a
regio da Campanha apresente o fenmeno, em alguns dias do ano, com certa
intensidade, a ponto de ameaar os rebanhos. Metade dos dias do ano so dias de
sol.
A umidade relativa do ar, na regio de Porto Alegre , em mdia, de 75%. O inverno
a estao mais mida. O clima do Estado do Rio Grande do Sul, comparando ao
de grande parte do Pas, apresenta condies que podem ser consideradas
favorveis.
No estado, as quatro estaes do ano apresentam-se caracterizadas. Segundo a
classificao, o Rio Grande do Sul se enquadra na zona fundamental temperada ou
C, isto , com temperatura do ms mais frio prxima a 3C, e no tipo fundamental
Cf: clima temperado mido, com chuvas distribudas por todo ano. Como uma
subdiviso do tipo fundamental Cf, o estado costuma ser classificado em duas
variedades especficas: clima subtropical ou virgiano, Cfa, cuja temperatura do ms
mais quente superior a 22C, e a do ms mais frio oscila entre 3 e 18C. Neste
ltimo caso, esto as partes mais elevadas do estado, como a regio Nordeste, com
389
altitudes superiores a 600m. Isso ocorre, ainda no Escudo Riograndense, onde a
altitude da ordem de 400 m.
Solo e vegetao
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rs6.html#solos
Solos
O solo gacho relativamente frtil. H problemas de acidez em certas regies,
embora facilmente corrigveis. O Sudeste ou o escudo rio-grandense constitudo
por solos arqueanos muito antigos. Nesta parte do estado, localizam-se as minas de
cobre, estanho, ferro, chumbo e ouro, nos municpios de Camaqu, Caapava e
Lavras do Sul. As jazidas de carvo localizam-se nos municpios de So Gernimo,
Bag, Caapava e Gravata. Para calagem do solo e para a fabricao de cimento e
cal, existem abundantes jazidas de calcrio nos municpios de Arroio Grande, So
Gabriel, Cachoeira do Sul, Rio do Pardo e outros.
No norte do estado existem algumas fontes de gua mineral, bem como pedras
semi-preciosas. Na fronteira uruguaia, os solos so resultantes do derrame
basltico, apresentando, por isso, maior fertilidade. Por isso os municpios de Bag,
Uruguaiana, Quara, Alegrete, Santana do Livramento, alm de contarem com
timas pastagens nativas, prestam-se tambm cultura do trigo e de outros cereais.
A plancie costeira do estado, que se estende por 622 quilmetros, toda arenosa e
baixa, apresentando o fenmeno das dunas em cmoros, que chegam a atingir mais
de vinte metros de altura, dando um aspecto peculiar paisagem.
As areias do litoral, prximas ao mar, endurecidas pelas umidade das ondas do mar,
permitem o trfego de veculos. Entretanto, o uso desta estrada natural muito
perigoso, podendo ocasionar acidentes.
Vegetao
Com referncia aos recursos naturais vegetais do estado, deve-se notar que o
territrio pertence ainda regio da Floresta Ombrfila Mista (Floresta com
Araucria).
So as conferas do tipo Araucaria angustifolia as rvores com predominncia na
regio. Mas h ainda nas florestas, madeiras de lei de excelente qualidade, como as
canelas, o cedro, o angico, a cangerana, o aoita-cavalo, o louro, a grapiapunha, o
cambuim e outras.
A erva-doce ainda ocorre em estado nativo no Rio Grande do Sul e, devido s
condies ecolgicas favorveis, tambm cultivada em grande escala.
390
Um destaque importante se d accia negra, rvore muito utilizada para produo
de tanino. O surgimento de importantes indstrias no setor foi e est sendo
estimulado pelo plantio de accia negra em terras gachas.
Em concluso, as madeiras do Rio Grande do Sul permitem a existncia de
indstrias madeireiras, moveleiras, de papel e celulose e de resinas e tanino.
O Parque Nacional dos Aparados da Serra inclui vrios tipos de vegetao: na parte
baixa, em Praia Grande, se encontra a Floresta Atlntica, que sobe pelas encostas
at uma altura de aproximadamente 600 metros. Na parte de cima, no planalto,
esto presentes os campos e a floresta com Araucria, onde se pode encontrar
predominante a Araucaria angustifolia, o pinheiro-do-paran e, nas bordas do
planalto, h a mata nebular, baixa, com rvores de at oito metros de altura, com
muitos musgos. Ela recebe esse nome por se encontrar em local onde freqente a
formao de nevoeiros, que sobem da regio da plancie, criando condies de alta
umidade.
Nos paredes verticais dos canyons, crescem pequenas ervas, arbustos e at
algumas pequenas rvores agarradas s frestas das rochas, e, nas pedras atingidas
pelos borrifos das cascatas, encontra-se a Gunnera manicata, com folhas enormes,
de at 1,5 metros de dimetro, encontradas nessa regio e na regio dos Andes.
No litoral, dentro do conjunto da Floresta Atlntica, encontramos diversas formaes
vegetais associadas a ambientes de sedimentao recente e ao ambiente de mars,
como a rea de preservao das dunas de Itapeva-Guarita em Torres, ltima
floresta remanescente perto do mar, pois o restante foi removido pelo avano da
especulao imobiliria na ocupao do litoral gacho.
Assim, alm da Floresta Atlntica com paisagens em graus diversificados de
antropizao, h os ecossistemas costeiros (Torres). A floresta caracterizada por
sua fisionomia alta e densa, conseqncia da variedade de espcies pertencentes a
vrias formas biolgicas e estratos. A vegetao dos nveis inferiores vive em um
ambiente bastante sombrio e mido, sempre dependente do estrato superior. O
grande nmero de lianas, epfitas, fetos arborescentes e palmeiras d a esta floresta
um carter tipicamente tropical.
Segundo a legislao ambiental que definiu os limites da Floresta Atlntica, no RS,
ela comea pelo Rio Mampituba em Torres, indo at Osrio, onde sobe a Serra
Geral, incluindo toda a Serra Gacha, e a novamente, desce o Itaimbezinho at a
nascente do Rio Mampituba. Todo o Litoral Norte e a Serra Gacha esto dentro da
chamada Floresta Atlntica.
Os ambientes do Litoral Norte so muito sensveis porque ainda esto em formao.
As dunas, restingas, banhados, lagoas, campos e matas formam corredores de vida
silvestre, com papel definido na harmonia da regio.
Esta paisagem foi se transformando com a chegada dos europeus, inicialmente
portugueses e depois os alemes e italianos. Mas eles foram mais degradados nos
ltimos 40 anos, com a chegada dos veranistas, com loteamentos irregulares,
supresso criminosa da vegetao original e, hoje, a grande quantidade de lixo e
esgoto que contaminam as guas e o mar em alguns pontos das praias.
391
Pampas
Localizam-se no Rio Grande do Sul, constituindo campos limpos, de chuvas
regulares, onde a vegetao bastante homognea, com ntida predominncia de
gramneas; encontram-se tambm rvores esparsamente distribudas, como unha-
de-gato e o pau-de-leite. Os pampas, embora bastante utilizados como terras de
cultivo, prestam-se muito pastagem, permitindo a existncia de uma pecuria
desenvolvida.
Floresta com Araucria
Localiza-se no Sul do Brasil, estendendo-se pelos Estados de Santa Catarina,
Paran e Rio Grande do Sul. O clima da regio temperado, com chuvas regulares
e estaes relativamente bem definidas, em que o inverno normalmente frio, com
geadas freqentes e o vero, razoavelmente quente. A vegetao aberta, com
ntida predominncia do pinheiro-do-paran, Araucaria angustifolia e de outras
gimnospermas, como o Podocarpus; encontram-se, tambm, a canela, a imbuia e a
erva-mate.
Vegetao Litornea
Influenciada pela presena de solos salinos e arenosos, com praias, dunas e
restingas. Ali vivem plantas rasteiras; em trechos pantanosos e nas imediaes da
foz dos rios, onde a gua salobra pode alcanar, desenvolvem-se os manguezais,
no interior da plancie, a vegetao mais densa e variada.
Fauna:
Existem, tambm, diversos animais que encontram no local uma rea de refgio. A
gralha azul, freqentadora assdua de regies de pinhais, realiza seu trabalho de
disperso das sementes do pinheiro; algumas aves de rapina, muito raras e
ameaadas de extino, tambm podem ser vistas: o gavio-pato, a guia-cinzenta,
o gavio-pega-macaco. Este ltimo pode escolher, entre suas presas, o mico-de-
topete, que costuma andar em bandos ruidosos, e que na poca do pinho visto
em grande nmero no parque.
Os animais de grande porte, porm, j no so abundantes, mas algumas espcies,
como o lobo guar e o leo-baio (puma americano) ainda sobrevivem,
principalmente nos locais mais inacessveis. Mais comuns, entre os mamferos, so
o zorrilho, o ourio-cacheiro, a cotia, e os tatus mulita, peba e galinha ocorrendo no
planalto.
392
SANTA CATARINA
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/sc.html#loca
Histria, Povoamento e Colonizao
As terras de Santa Catarina na poca do Descobrimento do Brasil eram habitadas
por ndios da nao tupi-guarani, dos quais ainda subsistem alguns ncleos.
As primeiras colnias de descendentes europeus foram estabelecidos no litoral de
Santa Catarina em meados do sculo XVII, fundadas por portugueses que vinham
de So Vicente, da originando as cidades de Florianpolis e So Francisco do Sul.
Os portugueses chegaram para povoar o litoral no sculo XVIII, agora oriundos das
ilhas dos Aores e da Madeira, consolidando uma caracterizao regional histrico-
poltico-cultural que se faz sentir at hoje.
Sem contato com as colnias litorneas, os ''caminhos de gado'' trilhados por
paulistas, no mesmo sculo, deram origem a pousos sobre o planalto que se
tornaram povoaes e cidades, como Lages, So Joaquim e Mafra.
A partir do sculo XIX, ocorre um novo fluxo de imigrao constitudo por colonos
alemes e italianos e, numa menor escala, por eslavos. A primeira colnia alem em
Santa Catarina foi instalada por iniciativa do governo, em So Pedro de Alcntara,
em 1829.
Os primeiros colonos italianos chegaram no ano de 1836 e, de 1875 em diante,
estabeleceram-se nas proximidades das colnias alems e mais para o interior
destas, normalmente seguindo o vale dos maiores rios que buscam o Atlntico,
dando origem So Joo Batista, Rodeio, Ascurra, Nova Trento, Cricima, Nova
Veneza, entre outras.
Os imigrantes eslavos, em particular os poloneses, foram a quarta corrente
imigratria importante a povoar Santa Catarina, embora em menor nmero do que
as anteriores. A colonizao foi completada no sculo atual, no final da dcada de
60, atravs de fluxos internos de imigrantes de segunda gerao, em direo ao
oeste catarinense.
Localizao e rea Territorial
O estado de Santa Catarina est localizado na
regio Sul do Brasil, entre os paralelos
2557'41" e 2923'55", latitude Sul e entre os
meridianos 4819'37" e 5350'00", longitude
Oeste. Limita-se ao norte com o estado do
Paran, ao sul com o Rio Grande do Sul, a
oeste com a Argentina e a leste com o
Oceano Atlntico, com uma extenso litornea
de 561,4 km.
393
rea territorial
rea Km
2
rea Total 95442,9
% da rea total do Pas 1,12
rea terrestre 94.940,9
rea de guas internas 502
FONTE: Fundao IBGE Anurio Estatstico do Brasil, 1991.
Limites (km)
Extenso Km
Total 2703
Setor Norte, Nordeste e Noroeste (com o Paran) 750
Setor Leste e Sudeste (com o Oceano Atlntico) 573
Setor Leste (Ilha de Santa Catarina) 155
Setor Sul e Sudeste (com o Rio Grande do Sul) 1014
Setor Oeste (com a Argentina) 211
FONTE: Fundao IBGE Anurio Estatstico do Brasil, 1991.
O Estado de Santa Catarina tem como capital administrativa Florianpolis e possui
293 municpios, desde 1 de janeiro de 1997. Devido a seus interesses
administrativos, os municpios esto agrupados em 18 Associaes, que compem a
Federao dos Municpios de Santa Catarina - FECAM.
394
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sc2.html#mapa
395
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rsc.html
396
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hsc.html
397
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/isc.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sc3.html#governo
Governo
Governador: Luiz Henrique da Silveira
Vice-governador: Eduardo Pinho Moreira
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania
Pedro Roberto Abel (respondendo)
Rua Tenente Silveira, 162 - 5o. Andar
Fone: (0xx48) 216-1511
Fax: (0xx48) 216-1543
Secretaria de Estado da Fazenda
Max Roberto Bornhodt (secretrio)
Rua Tenente Silveira, 60
CEP: 88.010-300
398
Fone: (0xx48) 216-7500 / 7511 / 7538
Fax: (0xx48) 216-7508
E-mail: mbornholdt@sef.sc.gov.br
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura
Moacir Sopelsa (secretrio)
Rodovia SC 404, Km 3
Itacorubi Florianpolis Santa Catarina
CEP: 88.034-001
Fone: (0xx48) 239-4014 / 4032 / 4022 / 4020
Fax: (0xx48) 239-4093
E-mail: redao@agricultura.sc.gov.br / gabinete@agricultura.sc.gov.br
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras
Edson Bez de Oliveira (secretrio)
Rua Tenente Silveira, 162 2 Andar
Centro Florianpolis Santa Catarina
CEP: 88.010-300
Fone (0xx48) 224-9799 / 5961
Fax (0xx48) 222-0209
E-mail: gabs@sto.sc.gov.br
Secretaria de Estado da Segurana Pblica
Pedro Roberto Abel (respondendo)
Rua Esteves Junior, 80 - 5 Andar
Centro Florianpolis Santa Catarina
CEP: 88.015-530
Fone: (0xx48) 251-1113 / 251-1123
Fax: (0xx48) 223-7617
Secretaria de Estado da Educao e do Desporto
Jac Anderle (secretrio)
Rua Joo Pinto, 111 - 10o. Andar
CEP: 88.010-410
Fone: (0xx48) 221-6000 / 6158 / 6159
Fax: (0xx48) 221-6156
Secretaria de Estado da Sade
Carlos Fernando Agustini (secretrio)
Rua Esteves Junior, 160 - 7o. Andar
CEP: 88.015-530
Fone: (0xx48) 221-2300 / 2063
Fax: (0xx48) 224-2796
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e da Famlia
Ainda no preenchido (secretrio/a)
Avenida Mauro Ramos, 722
Centro Florianpolis Santa Catarina
CEP: 88.020-302
Fone: (0xx48) 229-3600
Fax: (0xx48) 229-3618
399
Secretaria de Estado da Casa Civil
Danilo Aronovich Cunha (secretrio)
Rua Jos da Costa Moellmann, 193
Centro Florianpolis Santa Catarina
CEP: 88.020-170
Fone: (0xx48) 221-3233
Fax: (0xx48) 221-3267
Secretaria de Estado da Administrao
Marcos Luiz Vieira (secretrio)
Rua Padre Miguelino, 80 - 11 Andar
Centro Florianpolis Santa Catarina
CEP: 88.020-510
Fone: (0xx48) 221-8500 / 221-8520
Fax: (0xx48) 221-8618
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Brulio Csar da Rocha Barbosa (secretrio)
Av. Osmar Cunha, 183 Bloco B Sala 513
CEP: 88.015-100
Fone: (0xx48) 224-6166 / 3064
Fax: (0xx48) 224-0471
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico e Integrao ao
Mercosul
Armando Cesar Hess de Souza (secretrio)
Rua Tenente Silveira, 94 12 Andar
Centro Florianpolis Santa Catarina
CEP: 88.010-300
Fone: (0xx48) 216-8800 / 8888
Fax: (0xx48) 216-8998
E-mail: gabinete@sde.sc.gov.br
Secretaria de Estado de Informao
Derly Massaud de Anunciao (secretrio)
Rua Jos da Costa Moellmann, 193
CEP: 88.020-170
Fone: (0xx48) 221-3286
Fax: (0xx48) 221-3277
E-mail: derly@ccv.sc.gov.br
Secretaria Extraordinria para o Desenvolvimento do Oeste
Moacir Sopelsa (respondendo)
Rua Nereu Ramos, 3879
Chapec Santa Catarina
CEP: 89.814-000
Fone (0xx49) 322-1166
Fax: (0xx49) 322-1166
E-mail: alceb@cco.matrix.com.br
400
rgos Ambientais
- Assessoria Tcnica do Meio Ambiente
- Conselho Estadual de Recursos Hdricos - CELESC
- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA
- Departamento de Meio Ambiente DMA/Susp
- Fundao do Meio Ambiente - FATMA
Srgio Grando (diretor)
Rua Felipe Schmidt, 485 - 7 Andar
CEP: 88.010-001
Fone: (0xx48) 224-8299
Fax: (0xx48) 224-6281
- Fundao Municipal do Meio Ambiente - FAEMA
- Procuradoria da Repblica no Estado de Santa Catarina PR/SC
- Secretaria da Educao, Cultura e Desporto
- Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sc4.html#projetos
Programas e Projetos Ambientais
Cmara Tcnica de Educao Ambiental
Considerando a necessidade de dinamizar a implementao da Poltica Estadual do
Meio Ambiente e em consonncia com a proposio do documento final da I
CONFERNCIA CATARINENSE DE EDUCAO AMBIENTAL - I CONCEA, foi
criado no CONSEMA/SC - Conselho Estadual do Meio Ambiente, a Cmara Tcnica
de Educao Ambiental/CTEA.
A composio assim definida:
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDM;
Secretaria de Estado da Educao e Desporto - SED
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura - SDA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis -
IBAMA/SC
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Federao das Indstrias do Estado de Santa Catarina - FIESC
Instituto de Pesquisa Proteo e Educao Ambiental - LARUS
Companhia Catarinense de guas e Saneamento - CASAN
Companhia de Polcia de Proteo Ambiental - CPPA
401
A CTEA poder contar com especialistas na matria, que iro enriquecer a
discusso e a proposio ao Plenrio do CONSEMA, normas de efetivao e
incentivo Educao Ambiental no mbito do ensino formal e no-formal, de forma a
contribuir para a formao de uma conscincia voltada ao Desenvolvimento
Sustentvel no Estado de Santa Catarina.
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente
(http://www.sds.sc.gov.br/)
Comisso Interinstitucional de Educao Ambiental
Instituda atravs do Decreto n 2.489, a Comisso Interinstitucional de Educao
Ambiental do Estado de Santa Catarina tem por finalidade elaborar proposta de
anteprojeto de Lei da Poltica Estadual de Educao Ambiental e do Programa
Estadual de Educao Ambiental, articular a implantao da Poltica de Educao
Ambiental no Estado, bem como acompanhar e avaliar a execuo do Programa
Estadual de Educao Ambiental.
Compete, ainda, Comisso consolidar as polticas pblicas voltadas educao
ambiental, apoiando tecnicamente as atividades e ela relacionadas; promover
articulaes intrainstitucionais e interinstitucionais objetivando implementar a Poltica
Nacional de Educao Ambiental e a gerao das Diretrizes Estaduais de Educao
Ambiental; promover eventos voltados discusso das prticas, experincias e
polticas, relacionadas a educao ambiental.
Composio:
Membros da Comisso Interinstitucional de Educao Ambiental Entidades
Governamentais e No Governamentais.
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDM
Titular - Felipe Felisbino ? Secretrio Adjunto
Suplente - Leila Aparecida Kster Rodrigues - Gerente de Educao Ambiental
Secretaria de Estado da Educao e do Desporto - SED
Titular - Mrcia Margarida Bratti - Responsvel Tcnica pela Educao Ambiental
Suplente - Myrna Murialdo - Tcnica da DIEM
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura - SEA
Titular - Arlene Teresinha Boos - Lder do Projeto de Educao Ambiental
Suplente - Bernadete Panceri - Tcnica
Fundao do Meio Ambiente - FATMA
Titular - Shigueko Terezinha I. Fukahori - Tcnica em Controle Ambiental
Suplente - Patrcia Maria Soliani Prada - Tcnica em Controle Ambiental
Companhia Catarinense de guas e Saneamento - CASAN
Titular - Adilson Paulino de Souza Pereira - Engenheiro
Suplente - Claudio Floriani Jnior - Tcnico de Nvel Mdio
Centrais Eltricas de Santa Catarina S/A - CELESC
Titular - Disire Brigo - Chefe da Diviso do Meio Ambiente
Suplente - Mrcia Denise Buhuty - Assistente do Departamento de Gerao
402
Companhia de Polcia de Proteo Ambiental - CPMPA
Titular - Antnio Joo de Mello Jr - 1 Tenente
Suplente - Rodinei Dutra - 3 Sargento
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Titular - Mariane Alves Dal Santo - Professora Mestra
Suplente - Luiz Antonio de Oliveira - Professor
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis -
IBAMA
Titular - Martha Tresinari B. Wallauer - Administradora
Suplente - Genona Battisteli de Pinho - Tcnica Cartografia
Federao das Indstrias do Estado de Santa Catarina - FIESC
Titular - dio Laudelino da Luz - Presidente da Cmara de Qualidade Ambiental
Suplente - Lus Henrique Cndido da Silva - Secretrio Executivo da Cmara de
Qualidade Ambiental
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC
Titular - Luiz Srgio Philippi - Professor
Suplente - Antnio Carlos Machado da Rosa - Professor
Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL
Titular - Silene Rebelo - Professora
Suplente - Ftima Marcomim - Professora
Universidade do Vale de Itaja - UNIVALI
Titular - Jos Matarezi - Professor
Suplente - Fernando Luiz Diehl - Professor
Centro Federal de Educao Tecnolgica de Santa Catarina - CEFET/SC
Titular - Thyrza de Lorenzi Pires - Professora
Suplente - Fernando Teixeira - Professor
Federao de Entidades Ecologistas Catarinenses - FEEC
Titular - Clarice da Costa Trindade - Consultora
Suplente - Adriana Dias - Coordenadora
Sindicatos das Escolas Particulares - SINEPE
Titular - Marcelo Batista de Sousa - Presidente do SINEPE/SC
Suplente - Clair Gruber Souza - Coordenadora do Programa da Qualidade
Instituto de Pesquisa, Proteo e Educao Ambiental - LARUS
Titular - Nan Mininni Medina - Consultora de Educao Ambiental
Suplente - Rosemy da Silva Nascimento - Gegrafa
Departamento Nacional de Proteo Mineral - DNPM
Titular - Oniro Augusto Monaco - Gelogo
Suplente - Jesse Otto Freitas - Gelogo
Associao Catarinense de Imprensa
Titular - Vicente Impala Neto - Diretor de Meio Ambiente
Suplente - Gitane Machado - Jornalista
403
Federao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina -
FETAESC
Titular - Norberto Kortmann - Diretor Tesoureiro
Suplente -Carlos Augusto Volpato Assessor
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente
(http://www.sds.sc.gov.br/)
Recuperao das reas Degradadas na Regio Sul de Santa Catarina
Introduo
A populao da regio sul comprometida pela degradao ambiental estimada em
704.263 habitantes que tem interesse em consumir gua de boa qualidade e respirar
um ar sadio. Infelizmente, as atividades de minerao do carvo levaram a
degradao desses recursos naturais ao longo dos anos.
A explorao do carvo mineral na regio sul iniciou-se com a busca por alternativas
energticas em substituio ao petrleo. Desde o incio dessa atividade, as
empresas mineradoras particulares e governamentais de nvel Federal entenderam
que os resduos da minerao teriam como destino final os recursos hdricos e o
solo, sem maiores preocupaes com a minimizao de sua ao poluente. Esta
opo levou a um nvel de degradao ambiental tal que a Regio Sul de Santa
Catarina foi reconhecida publicamente pelas autoridades como a 14 rea Critica
Nacional, atravs do decreto federal N 85.206/80.
Atualmente existem aproximadamente 4.700 has de reas degradadas pelos rejeitos
da minerao do carvo nesta regio, comprometendo gravemente a qualidade de
vida das populaes envolvidas dos municpios de Lauro Mller, Orleans, Treviso,
Urussanga, Siderpolis, Cocal do Sul, Nova Veneza, Cricima, Forquilhinha, Morro
da Fumaa e Maracaj e os ecossistemas ali existentes.
Diante da necessidade premente de desenvolver aes no sentido da preservao
dos mananciais hdricos de boa qualidade ainda existentes e recuperar as reas
degradadas pela extrao do carvo, o poder pblico, atravs do Governo do Estado
de Santa Catarina enfrentou essa grave questo e iniciou o processo de
recuperao de reas abrangendo, numa primeira etapa reas pblicas. Aps o
processo de recuperao, as reas previamente definidas sero transformadas em
reas de preservao permanente, em reas de pesquisa, em reas de lazer para a
comunidade, em loteamentos populares e em reas industriais por se situarem nas
proximidades de alguns centros urbanos e atenderem a aspirao dos municpios
que as integram.
A partir de uma emenda ao oramento da Unio produzida pela bancada federal
catarinense, o Governo Federal, atravs do IBAMA, repassou em duas etapas, os
montantes de R$ 1.466.700,00 e R$ 1.097.000,00 para que a SDM viabilizasse a
recuperao de 124,84 has de rea degradadas e providenciasse a aquisio de
equipamentos para a anlise e monitoramento das superfcies recuperadas.
404
Assim, foi institudo Convnio com os seguintes rgos e instituies para viabilizar
a execuo da primeira etapa do processo - Convnio 042/96. EPAGRI para a
elaborao dos projetos e acompanhamento das obras de recuperao; FATMA
para o monitoramento das reas antes e aps a recuperao; a UNESC e as
Prefeituras Municipais de Cricima, Forquilhinha, Lauro Mller, Orleans, Treviso e
Siderpolis para que as mesmas se responsabilizassem pelas reas aps a
recuperao. Na segunda etapa - Convnio 024/99 os projetos executivos de
recuperao foram contratados atravs de licitao pblica e se acham em fase de
concluso, abrangendo reas pr-selecionadas objeto de ajustamento de conduta
entre o Ministrio Pblico Federal, SDM, FATMA, Prefeituras Municipais,
Mineradores e Organizaes no governamentais, ficando a manuteno das reas
a cargo das empresas mineradoras, das prefeituras de Cocal do Sul, Siderpolis,
Treviso, Orleans e Lauro Mller e da UNISUL.
Objetivos Gerais
Com a implantao dos projetos finais de engenharia as reas degradadas pela
disposio inadequada dos rejeitos provenientes da lavra e do processamento do
carvo e das demais atividades de minerao, sero recuperadas, melhorado a
qualidade dos recursos hdricos, do ar e dos terrenos da regio.
Este trabalho tem como principais objetivos a recuperao de reas de propriedade
do poder pblico e servir como modelo para a futura recuperao de reas
degradadas pela minerao do carvo de propriedade das empresas mineradoras.
Os projetos de recuperao das reas, j elaborados e em elaborao, levaram em
conta o uso futuro dessas superfcies, abrangendo trabalhos de nivelamento e
adensamento dos resduos pirito-carbonosos, aterro e recobertura com argila,
barragens de conteno, drenagem superficial e profunda, recomposio de taludes,
revegetao e preparo de reas para urbanizao, uso industrial, pesquisa e lazer
comunitrio.
Objetivos Especficos
Os estudos e a implementao das recuperaes objetivou elaborar projetos de
reas pr-1selecionadas para uma utilizao especfica; recuperar um montante de
124,83 has de reas degradadas pela presena de resduos da minerao do
carvo; recompor 1,5 km de margens de cursos d?gua e efetuar o
acompanhamento da implantao dos projetos, sua manuteno e o monitoramento
das reas recuperadas.
Para consubstanciar essa recuperao e o monitoramento das reas, foram
adquiridos equipamentos de anlise e controle e implantados dois hortos florestais
no mbito das instalaes da EPAGRI nos municpios de Urussanga e Ararangu
com 1.200m2 de rea cada um.
rea de Atuao
A rea de atuao das recuperaes so as Bacias Hidrogrficas dos rios da Regio
Sul localizadas nos municpios anteriormente referidos que totalizam 8.700 km2.
Do ponto de vista legal essas reas so particulares, cuja responsabilidade de
recuperao das empresas mineradoras. Esses locais antes de serem
405
recuperados com recursos pblicos, so convertidos em reas de domnio pblico e
trabalhados com fins de interesse social.
Seleo das reas
Atravs de uma equipe multidisciplinar composta por tcnicos da Empresa
Catarinense de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural - EPAGRI, da Fundao do
Meio Ambiente de Santa Catarina - FATMA, da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDM e do Departamento Nacional de
Produo Mineral - DNPM foram selecionadas reas degradadas que atendessem
aos pr-requisitos de serem de propriedade pblica, de estar prxima de nascentes
ou junto de cursos d?gua, e que sua recuperao pudesse trazer benefcios
ambientais e sociais diretos.
Foram selecionados tambm dois locais para a implantao de hortos florestais.
A definio, da destinao futura das reas e dos locais dos hortos foi realizada em
comum acordo ainda com as Prefeituras Municipais e as Universidades do Extremo
Sul Catarinense- UNESC e Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL.
Convnios
Os Convnios
Os 124,83 has de reas projetadas e em fase de implantao foram em parte
recuperadas pelo Convnio IBAMA/SDM - 042 /96, 83,4 has, projetos-A, B, C, F, G,
H, I, J, acrescidos dos hortos florestais e em parte sero recuperadas pelo Convnio
IBAMA/SDM - 024/99, 40,54 has, projetos A-2, B-2, C-2, D-2, G-2 e H-2.
Valores dos Convnios
Os convnios de N 042/96 e N 024/99, firmados entre o Governo Federal atravs
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis-
IBAMA e o Governo Estadual atravs da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente-SDM, somam valores de R$ 1.760.700,00 (hum milho
setecentos e sessenta mil e quarenta reais) e R$ 1. 097.090,00 (hum milho noventa
e sete mil e noventa reais), respectivamente, dos quais R$ 1.466.700,00 (hum
milho quatrocentos e sessenta e seis mil e setecentos reais) e R$ 899.090,00
(oitocentos e noventa e nove mil e noventa reais) se constituem recursos da Unio e
R$ 293.340,00 (duzentos e noventa e trs mil e trezentos e quarenta reais) e R $
198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) se constituem da contrapartida do
Estado nos convnios.
Projetos de Recuperao de reas Degradadas pelos Rejeitos da Minerao do
Carvo, o Monitoramento, Veculos e Equipamentos
Os Projetos
As reas selecionadas para a recuperao ambiental, objeto da elaborao de
Projetos Finais de Engenharia e em fase de elaborao, projetos executivos, foram
denominadas de PROJETO A- Ex-Patrimnio; PROJETO B-Lajeado; PROJETO C-
Boa Vista; PROJETO E-ICC-Cricima; PROJETO F-Fiorita I; PROJETO G-Fiorita II;
406
PROJETO H-So Joo; PROJETO I-ICC- Forquilhinha; PROJETO J-Horto Florestal
CETRAR; PROJETO K-Horto Florestal Estao Experimental de Urussanga;
PROJETO A-2-Rio Cafund; PROJETO B-2-Ex-Patrimnio; PROJETO C-2-Mina
Gacha; PROJETO D-2-Rio Bonito; PROJETO G-2-rea Pblica de Treviso e
PROJETO H-2-Rio Molha.
A Localizao, a rea superficial, o Tipo de Material Degradante, Destinao e a
Responsabilidade das reas
O Projeto A-Ex-Patrimnio
Est situado na localidade homnima, no municpio de Siderpolis, junto s
nascentes do rio Sango, possui 20 has, se compe de rejeitos pirito-carbonosos, se
encontra sob a responsabilidade do municpio e foi destinado para um Distrito
Industrial.
O Projeto B-Lajeado
Est situado na localidade de Guat, no municpio de Lauro Mller, possui 1,41 has,
se compe de rejeitos pirito-carbonosos, se acha sob a responsabilidade do
municpio e foi destinado para se constituir em um Loteamento Popular da
localidade.
O Projeto C-Boa Vista
Est situado na localidade homnima, no municpio de Cricima, possui 3,45 has, se
compe de rejeitos pirito-carbonosos, se encontra sob a responsabilidade do
municpio e foi destinado para um Loteamento Popular.
O Projeto E-ICC-Cricima
Est situado na localidade Sango, no municpio de Cricima, nas antigas
dependncias da Industria Carboqumica Catarinense-ICC a margem esquerda do
rio Sango, possui 15,0 has, se compe de rejeitos pirito-carbonosos, se encontra
sob a responsabilidade da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC e foi
destinado para Campo de Pesquisa da prpria universidade.
O Projeto F-Fiorita
Est situado na localidade homnima, no municpio de Siderpolis, possui 10,0 has,
se compe de rejeitos pirito-carbonosos, se encontra sob a responsabilidade do
municpio e foi destinado para um segundo Distrito Industrial.
O Projeto G-Fiorita II
Est situado na localidade homnima, no municpio de Siderpolis, possui 10,0 has,
se compe de rejeitos pirito-carbonosos, se encontra sob a responsabilidade do
municpio e foi destinado para se constituir em um Loteamento Popular da
localidade.
O Projeto H-So Joo
Est situado na localidade homnima, no municpio de Cricima, possui 2,13 has, se
compe de rejeitos pirito-carbonosos, se encontra sob a responsabilidade da
407
Associao de Moradores do Local e foi destinado a uma Praa de Esportes da
comunidade.
O Projeto I-ICC-Forquilhinha
Est situado na localidade Sango, no municpio de Forquilhinha, a margem direita
do rio Sango, possui 24,3 has, se compe de rejeitos pirito-carbonosos, se
encontra sob a responsabilidade do municpio, que tem o compromisso de tornar o
local uma rea de preservao permanente-APP.
Os Projetos J e K
Se constituem em hortos florestais que foram implantados nas dependncias da
Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural-EPAGRI na
Estao Experimental de Urussanga e no Centro de Treinamento-CETRAR em
Aranrangu, ambos com 1.200 m2 de rea e com capacidade para produzir 900.000
mudas/a.
O Projeto A-2-Rio Cafund
Est situado na localidade de Boa Vista prximo da Serra do Rio Oratrio, no
municpio de Orleans, junto algumas nascentes do rio Cafund, possui 7,20 has,
se compe de rejeitos pirito- carbonosos e de bocas de minas abandonadas. Estar
sob a responsabilidade da prefeitura municipal, da Cia Carbonfera Palermo e da
Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL e foi destinado para um Campo de
Pesquisa da Universidade, da EPAGRI, da SDM e da FATMA. Ser implantado no
local um projeto piloto de tratamento de gua cida. O projeto final de engenharia
est em fase de concluso.
O Projeto B-2-Ex-Patrimnio
Est situado na localidade homnima, no municpio de Siderpolis, junto as
nascentes do rio Sango, possui 6,7 has, se compe de rejeitos pirito-carbonosos,
se encontra sob a responsabilidade do municpio e foi destinado para se constituir
em uma rea de Preservao Ambiental. A obra de recuperao foi licitada.
O Projeto C-2-Mina Gacha
Est situado na localidade homnima, no municpio de Cocal do Sul, possui 4,34
has, se compe de rejeitos pirito-carbonosos e bocas de minas abandonadas, se
encontra sob a responsabilidade do municpio e foi destinado para se constituir em
uma Unidade de Conservao Ambiental onde se pretende implantar um Horto
Florestal. A obra de recuperao J foi concluda.
O Projeto G-2-rea Pblica de Treviso
Est situado entre os leitos dos rios Me Luzia e Pio, prximo da confluncia dos
mesmos no municpio de Treviso, possui 10,0 has, se compe de rejeitos pirito-
carbonosos, se encontra sob a responsabilidade do municpio e da Cia Carbonfera
Treviso e foi destinado para se constituir em uma rea de Preservao Permanente-
APP. Ser implantado no local um projeto piloto de tratamento de gua cida. O
projeto final de engenharia encontra-se em fase de concluso.
408
O Projeto D-2-Rio Bonito
Est situado s margens do rio Bonito na localidade de Palermo, no municpio de
Lauro Mller, possui 8,0 has, se compe de rejeitos pirito-carbonosos e de bocas de
minas abandonadas, se encontra sob a responsabilidade do municpio e da Cia
Carbonfera Palermo e foi destinado para se constituir em uma rea de Preservao
Permanente-APP. O Projeto Final de Engenharia foi licitado.
O Projeto H-2-Rio Molha
Est situado junto as nascentes do rio Molha no distrito de Rio Maior no municpio de
Urussanga, possui 5,0 has, se compe de estreis, rejeitos pirito-carbonosos e de
bocas de minas abandonadas, se encontra sob a responsabilidade do municpio e
da Cia Carbonfera Treviso e foi destinado para se constituir em uma rea de
Preservao Permanente-APP. O Projeto Final de Engenharia ainda no foi Licitado
em face da falta da doao da rea a ser recuperada para o poder pblico por parte
da Cia Carbonfera, detentora dos direitos de propriedade.
Tipo de Recuperao e Implantao Utilizados
Os locais degradados e recuperados pela atuao do convnio 042/96 foram
tratados com a recuperao fsico-hidrolgica-ambiental das superfcies trabalhadas
envolvendo o acerto topogrfico de cada uma; a impermeabilizao das superfcies
com cobertura argilosa com espessuras diversas; a conduo das guas superficiais
e profundas para os locais de destino; a implementao do reforo de vegetao de
reas j revegetadas espontaneamente e revegetao por hidrossemeadura ou
grama em placas das superfcies retrabalhadas; a arborizao de algumas reas
trabalhadas; a recomposio da mata ciliar dos rios envolvidos com as superfcies
recuperadas; o aproveitamento como reas fonte de pesquisa, como distritos
industriais, como loteamento popular e como rea de lazer.
As aes concebidas e implementadas pelos projetos das reas pertencentes ao
convnio 024/99 preveem o reordenamento topogrfico das superfcies a serem
recuperadas; a impermeabilizao das superfcies com cobertura argilosa com
espessuras diversas; a conduo das guas superficiais e profundas para os locais
de destino; a implementao do reforo de vegetao de reas j revegetadas
espontaneamente e revegetao por hidrossemeadura ou grama em placas das
superfcies retrabalhadas; o lacre de bocas de minas abandonadas; a implantao
de projetos pilotos de tratamento de guas cidas e o aproveitamento como reas
fonte de pesquisa.
Recuperao Fsica da rea
A recuperao fsica das reas se deu em locais em que foram trabalhadas as reas
de lavra de carvo a cu aberto e em locais de depsito de rejeito estril e piritoso-
carbonosos resultantes do processo de lavagem para a separao das fraes
estreis do carvo mineral.
A execuo dos projetos concebidos tiveram o acompanhamento permanente de
uma comisso formada por integrantes da Empresa Catarinense de Pesquisa
Agropecuria e Extenso Rural - EPAGRI, do Departamento de Edificaes e Obras
Hidrulicas - DEOH do estado de Santa Catarina, da Fundao do Meio Ambiente-
409
FATMA e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente-
SDM.
A rea denominada de ICC-Forquilhinha, Projeto I, foi objeto de terraplenagem, de
implantao de drenagem superficial e profunda, sofreu cobertura com 40cm de
argila, revegetao com gramneas atravs de semeadura e hidrossemeadura e
plantio de espcies arbreas nas margens do rio Sango que corta a regio.
A rea denominada de ICC-Cricima, Projeto E, foi objeto de terraplenagem, de
implantao de drenagem superficial e profunda, sofreu cobertura com 20cm de
argila na maior parte da rea e 50cm na rea adjacente ao rio Sango, revegetao
com gramneas atravs de semeadura e hidrossemeadura e plantio de espcies
arbreas.
A rea denominada de So Joo, Projeto H, foi objeto de terraplenagem, de
implantao de drenagem superficial, sofreu cobertura com 20cm de argila e
revegetao com gramneas e espcies arbreas, para abrigar uma praa com um
campo de futebol.
A rea denominada de Boa Vista, Projeto C, foi objeto de terraplenagem, sofreu
cobertura com 20cm de argila, a implantao de drenagem superficial e revegetao
com gramneas por semeadura e hidrossemeadura.
A rea denominada de Ex-Patrimnio, Projeto A, foi objeto de terraplenagem, sofreu
cobertura com 40cm de argila, implantao de drenagem superficial e profunda e
revegetao com gramnea, hidrossemeadura e plantio de espcies arbreas para a
restaurao de mata ciliar do rio Sango, situado lateralmente ao stio recuperado.
A rea denominada de Fiorita I, Projeto F, foi aproveitada de uma rea j
terraplenada e recuperada ambientalmente pelo Departamento Nacional de
Produo Mineral - DNPM, no distrito de Fiorita, no municpio de Siderpolis. O
trabalho consistiu de implantao de drenagem pluvial para o futuro arruamento do
loteamento, do enriquecimento da rea verde do loteamento e da revegetao
florestal das nascentes e linhas de drenagem contguas a rea.
A rea denominada de Fiorita II, Projeto G, foi objeto de terraplenagem, sofreu
cobertura com 20cm de argila e revegetao com gramnea e espcies arbreas. A
circunvizinhana j revegetada espontaneamente sofreu tambm enriquecimento
florestal. Este remanescente florestal se destina a preservao ecolgica local.
A rea denominada de Lajeado, Projeto B, foi objeto de terraplenagem, sofreu
cobertura com 20cm de argila, implantao de drenagem superficial e revegetao
com gramneas por semeadura e hidrossemeadura.
A rea denominada de Mina Gacha, Projeto C-2, foi objeto do selamento de Quatro
bocas de minas, de terraplenagem, sofreu cobertura com 15cm de argila,
implantao de drenagem superficial e revegetao com grama em placas e
semeadura. o nico projeto do convnio 024/ 99 at o momento executado e a
prefeitura municipal deve implantar um horto florestal no local.
410
Custos de implantao, de Equipamento, de Veculos e de Espaos Fsicos
Dos valores referentes a R$ R$ 1.760.700,00 (hum milho setecentos e sessenta mil
e quarenta reais) previstos para a execuo do convnio 042/96, R$ 1.466.700,00
(hum milho quatrocentos e sessenta e seis mil e setecentos reais) constituem-se de
recursos Federais e R$ 293.340,00 (duzentos e noventa e trs mil e trezentos e
quarenta reais) constituem-se de recursos Estaduais que foram gastos na
elaborao de projetos-R$ 45.633,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e trs
reais), na implantao dos projetos-R$ 977.800,00 (novecentos e setenta e sete mil
e oitocentos reais); no acompanhamento da implantao dos projetos-R$ 25.013,00
(vinte e cinco mil e treze reais); no acompanhamento da implantao dos hortos
florestais e na aquisio de material de consumo-R$ 34.430,00 (trinta e quatro mil
quatrocentos e trinta reais); no monitoramento das reas degradadas e recuperadas-
R$ 32.030,00 (trinta e dois mil e trinta reais); na aquisio de equipamentos para
acompanhamento das obras e monitoramento-R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil
reais);na aquisio de equipamentos para a operacionalizao dos hortos florestais-
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); na aquisio de equipamentos para a
instrumentalizao do monitoramento e controle ambiental-R$ 346.900,00 (trezentos
e quarenta e seis mil e novecentos reais); na aquisio de rea fsica para alojar a
Coordenadoria da Regio Sul-CERSU, da FATMA em Cricima-R$ 130.562,00
(cento e trinta mil e quinhentos e sessenta e dois reais) e nas atividades inerentes a
instrumentalizao do controle ambiental-R$ 25.672,00 (vinte e cinco mil e
seiscentos e setenta e dois reais.
Dos valores acima especificados, foram empregados R$ 291.000,00(duzentos e
noventa e hum mil reais) na aquisio de equipamentos para a capacitao do
laboratrio integrado da FATMA/ UNESC, R$ 248.400,00 (duzentos e quarenta e
oito mil e quatrocentos reais) para a instrumentalizao da Coordenadoria da Regio
Sul da FATMA-CERSU, incluindo dois veculos- Um Jeep Toyota e um Corsa e o
imvel que abriga a Coordenadoria, R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) para a
capacitao da EPAGRI, incluindo dois veculos Corsa e R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) para a capacitao da SDM.
Dos valores referentes a R$ 1.097.000,00 (hum milho e noventa e sete mil reais)
previstos para a execuo do convnio 024/99, R$ 899.090,00 (oitocentos e noventa
e nove mil e noventa reais) constituem-se de recursos Federais e R$ 198.000,00
(cento e noventa e oito mil reais) constituem- se de recursos Estaduais. Deste
montante foram gastos com elaborao de projetos-R$ 17.845,60 (dezessete mil
oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), na implantao do projeto
da Mina Gacha-R$ 57.213,48 (cinqenta e sete mil duzentos e treze reais e
quarenta e oito centavos), e com a aquisio de equipamentos de monitoramento,
de laboratrio, de informtica, de material de consumo e com a aquisio de
veculos-R$ 290.190,00 (duzentos e noventa mil cento e noventa reais). Esto
previstos ainda a implantao dos projetos das reas dos municpios de Siderpolis,
Treviso, Urussanga, Orleans e Lauro Mller.
O custo do hectare das obras de recuperao das reas includas no convnio
042/96 variaram entre R$ 6.653,70 (seis mil seiscentos e cinqenta e trs reais e
setenta centavos) e R$ 18.123,90 (dezoito mil cento e vinte e trs reais e noventa
centavos). O custo do hectare de obra recuperada da rea da Mina Gacha do
411
convnio 024/99 importou em R$ 13.182.82(treze mil cento e oitenta e dois reais e
oitenta e dois centavos).
Durao das Obras
As obras de implantao das reas recuperadas pelo convnio 042/96 iniciaram-se
em setembro de 1998 e foram concludas entre os meses de agosto e outubro de
1999. Os trabalhos de recuperao da rea de Cocal do Sul pertencente ao
convnio 024/99 iniciaram-se no ms de junho de 2001 e foram concludos no ms
de maro de 2002. A rea da localidade de Ex- Patrimnio do municpio de
Siderpolis a ser brevemente recuperada hoje em processo de licitao tem um
tempo estimado de execuo de obras em 120 dias.
Hortos Florestais
Estes dispositivos tem como objetivo a produo de mudas de espcies vegetais
exticas e nativas para revegetar as superfcies especficas dos projetos de
recuperao das reas degradadas da regio e reimplantar mata ciliar dos rios
Estaduais. Secundariamente, se revestem da funo de servir de referncia para
treinamento de agricultores e da comunidade em geral, quanto aos mtodos de
recuperao de reas de preservao permanente com espcies nativas,
degradadas por outras atividades degenerativas. Foram implantados dois hortos
florestais, ambos com 1200 m2 de rea e com capacidade para produzir 900.000
mudas/a, que se acham em pleno funcionamento.
O Monitoramento Ambiental
Introduo
Uma das principais atividades econmicas envolvidas com a bacia carbonfera do
sul do Estado a rizicultura, secundada por lavouras de milho, feijo e mandioca,
que caracterizam-se por utilizar agrotxicos e grande volume de gua, gerando
conflitos de uso, uma vez que somada a demanda de gua dos rizicultores s
demandas de abastecimento pblico e industrial, chegou-se ao esgotamento da
capacidade de abastecimento de gua potvel da regio sul.
Estes fatos associados degradao causada pela minerao do carvo que
tambm compromete a qualidade do ar, levaram os recursos hdricos locais a um
total comprometimento, situao que deve ser revertida atravs de um controle
ambiental mais eficiente.
A disponibilidade de gua de boa qualidade da regio se resume as bacias
hidrogrficas dos rios que nascem no sop da Serra Geral a direita do rio Me Luzia.
Objetivos
Gerais
Os projetos de monitoramento a serem e j implantados objetivam o controle
ambiental e o monitoramento da qualidade do ar e dos recursos hdricos da regio
envolvida.
412
Especficos
Mais especificamente, os projetos foram concebidos para monitorar os processos de
recuperao das reas degradas pelos resduos da minerao do carvo, para
desenvolver estudos sobre a contaminao de agrotxicos lanados nos cursos
d'gua ou que atinjam o lenol fretico, para ampliar e equipar a rede de
monitoramento dos recursos hdricos da regio, aumentando os atuais 35 pontos
para 110, para realizar o monitoramento da qualidade do ar envolvido, para dotar os
laboratrios SDM/FATMA/UNESC e UNISUL de equipamentos de laboratrio, de
informtica e de apoio necessrios ao desenvolvimento das atividades de anlise e
compilao de dados gerados no monitoramento ambiental, para fornecer veculos
para algumas instituies envolvidas, necessrios ao desenvolvimento das
atividades de coleta de dados, controle e monitoramento e para a aquisio de
imvel para a instalao da Coordenadoria de Meio Ambiente da Regio Sul-CERSU
da FATMA em Cricima.
rea de Envolvimento
Os trabalhos de monitoramento sistemtico na regio sul iniciaram-se somente a
partir de 1990.
A rea atual de envolvimento destes trabalhos compreende os 5.100km2 referentes
a bacia hidrogrfica do rio Tubaro, os 3.020km2 referentes a bacia hidrogrfica do
rio Ararangu e os 580km2 referentes a bacia hidrogrfica do rio Urussanga, mais a
faixa litornea de 170km, compreendida entre os balnerios de Passo de Torres e
Imbituba.
Rede de Monitoramento para Controle Ambiental .
Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar
A rede de monitoramento da qualidade do ar era constituda de 08 estaes fixas de
monitoramento, sendo 04 com medidor de SO2 e medidor de material e 04 estaes
para medio somente de material particulado, tendo sido anexado mais 04
estaes de medio de SO2.
Rede de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hdricos
A Fundao do Meio Ambiente-FATMA iniciou os trabalhos de monitoramento nas
bacias hidrogrficas, efetivamente em 1990.
Atualmente a rede de monitoramento composta por 110 pontos, sendo 03
estaes com equipamentos fixos de medio, 10 poos para coleta de gua de
subsolo, 65 pontos de coleta de gua de rios e 30 pontos para coleta de efluentes de
reas degradadas pela atividade de minerao do carvo.
Tal atividade demanda uma grande organizao de dados, a utilizao de
modelagem das bacias hidrogrficas e equipamentos geis e seguros para a coleta
e o transporte das amostras. Necessita tambm que as estaes que contenham
413
equipamentos fixos de medio possuam climatizao adequada para o bom
funcionamento destes e o mnimo de conforto para os operadores .
Existe, igualmente, a necessidade de controlar e verificar a poluio causada pelo
uso indiscriminado de agrotxicos que aportam s bacias hidrogrficas da regio
independentemente da poluio carbonfera. Para isso foram instalados
equipamentos de cromatografia gasosa no Laboratrio SDM/FATMA/UNESC, a fim
de se efetuar pesquisas sobre o assunto utilizando-se em contrapartida a
cooperao tcnica da Universidade do Extremo Sul.
Todo este trabalho na Regio Sul de SC, necessita de instalaes fsicas adequadas
e permanentes para abrigar os tcnicos e equipamentos necessrios. Para tanto foi
necessrio a disponibilidade de um espao cedido pela UNESC nas dependncias
do seu Instituto de Pesquisas Ambientais, ao laboratrio e a aquisio de um imvel
de aproximadamente 250 m2, para disponibilizar os tcnicos da CERSU/FATMA em
Cricima.
Instrumentao para Medio da Poluio Sonora
A sociedade tem exigido resposta da FATMA, no caso de reclamaes de poluio
sonora, tendo alguns casos de reclamao sido decididos e resolvidos pela
Promotoria de Justia do Estado. Para tanto foi adquirido um medidor de rudos para
averiguaes de intensidades sonoras que se acha alocado na Coordenadoria
Regional da Regio Sul da FATMA em Cricima.
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente
(http://www.sds.sc.gov.br/)
Programa de Preveno e Atendimento a Acidentes com Cargas Perigosas
Em conjunto com a Defesa Civil de Santa Catarina fiscaliza o transporte de produtos
txicos pelo estado, atende com equipe tcnica especializada os acidentes com este
tipo de carga, evitando danos maiores ao meio ambiente e s comunidades
envolvidas, e ainda habilita os motoristas destes veculos a agir com segurana no
transporte e nos acidentes
Acidentes acontecem. Por isso a Fatma implantou o PARE - Planto de Acidentes e
Reclamaes Ecolgicas, que atende pelo fone 1523 e funciona 24 horas por dia,
todos os dias. Quando acionado, uma equipe com tcnicos habilitados responder
prontamente e tomar as providncias necessrias para evitar danos maiores ao
ambiente e s comunidades. Para evitar os acidentes, a Fatma fiscaliza o transporte
e credencia condutores habilitados para dirigir veculos que carregam produtos
perigosos.
Fonte: Fundao do Meio Ambiente (http://www.fatma.sc.gov.br/instituc)
414
Relevo, Solos, Clima e Vegetao
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sc5.html#relevo
Relevo
A maior parte do territrio de Santa Catarina compreendida por uma parcela do
Planalto Meridional. Na regio costeira, o territrio apresenta sua regio de plancie
litornea, com a ocorrncia de vrias enseadas. Ainda prximo ao litoral est
localizada uma pequena parcela do chamado Planalto Atlntico.
O ponto mais alto do relevo catarinense, representado pelo Morro da Igreja, com
1822 metros de altitude, est localizado na Serra da Anta Gorda. Tendo em vista a
influncia do relevo e da estrutura do solo na fixao das populaes na vida
econmica regional, passam a ser importantes diversos aspectos destes fenmenos
geogrficos no Estado de Santa Catarina.
O relevo cristalino compreende a rea oriental do estado, contato com terrenos
sedimentares de caractersticas morfolgicas diversas, que assinalam a estreita
faixa costeira com superfcies baixas costeiras e com superfcies baixas na orla
atlntica.
A oeste, os terrenos cristalinos limitam conformaes sedimentares paleozicas,
abaixo das quais desaparecem ao sul, na altura de Cricima. A srie Brusque possui
minrios de ferro (hematita e magnetita) o qual extrado e consumido por indstrias
metalrgicas de Joinville e de outros centros da Bacia do Itaja.
Sob o ponto de vista petrolfero, o cristalino catarinense apresenta caractersticas
particulares. Quanto as placas tectnicas, possui semelhanas com as unidades
cristalinas que abrangem outras reas do Sudeste brasileiro.
interessante ressaltar o significado que tiveram e ainda tm as terras baixas
litorneas e os vales que formam o povoamento da regio.
As seces litorneas: as diferentes caractersticas observadas na morfologia
litornea sugerem a diviso em: Litoral Norte, Central e Sul.
a) Litoral Norte: caracteriza-o a extensa plancie, interpolada por formaes
cristalinas, com predominncia arenosa. Estende-se desde a barra do Rio So
Francisco at a barra do Itapoc. Remanescente do relevo cristalino, destaca na
paisagem e condiciona a funo porturia da cidade de So Francisco.
O predomnio das formaes sedimentares neste trecho do litoral de grande
contedo silicioso fator negativo da qualidade dos solos agrcolas. Formaes
florestais a existentes permitiram, todavia, acumulao de detritos orgnicos que
atenuam a pobreza do solo.
b) Litoral Central: vai desde a barra do Itapocu at a altura da extremidade sul da
Ilha de Santa Catarina. A morfologia se caracteriza pela maior movimentao, isto ,
as formaes cristalinas esbarram mais freqentemente no mar, guardando as
cristas; entretanto, sua direo mais ou menos oblqua. Da o resultado de uma
frente mais contnua. Em consequncia, muitas enseadas e baas de forma elptica
tornam-se numerosas e apresentam fundos lodosos ou de mangues. Alguns rios
415
importantes desguam no litoral central, formando plancies de sedimentao
tambm martimas: Itaja e Tijucas.
A Ilha de Santa Catarina um conjunto de espores que o processo de
sedimentao, ainda no quaternrio, culminou por unir, prevendo ainda em seu
interior duas lagoas. A mais ampla a da Conceio, que uma das atraes
tursticas principais.
A do Peru, pouco extensa, j dessalinizada, hoje campo experimental de
piscicultura; j a da Conceio rea ativa de pesca.
Dois grandes centros urbanos se localizam no litoral central: Itaja, onde se situa o
porto mais dinmico do estado e Florianpolis, localizada no trecho mais apertado
entre a ilha e o continente, estendendo seu stio urbano em duas partes ligadas pela
ponte Herclio Luz.
Das praias, a de Camboru notada pela sua beleza e pela proximidade a centros
urbanos da Bacia do Itaja.
c) Litoral Sul: marca o predomnio das baixadas. O processo de retificao por
efeito da sedimentao elio-marinha, combinado com a deposio de detritos de
rios importantes como o Tubaro, Ararangu, est bem avanado e por isso se
apresenta bastante retilneo sobretudo a partir da cidade de Laguna.
Entre os acidentes mais importantes, est a plancie em forma de delta do Rio
Tubaro, em parte ocupada para fins agrcolas e de criao.
A cidade de Laguna est construda na extremidade interior da ria que constitui a
lagoa mais ampla do estado, estreitada mediante a formao ao Norte a que se
denomina de Imaru. A cidade se ergue tanto nas pores baixas quanto no sap de
formaes cristalinas, sendo que o centro comercial e porturio se localiza na parte
baixa.
As numerosas praias do litoral meridional lhe do grande beleza panormica, nas
proximidades de Ararangu, onde o mar aberto e as elevadas dunas esbarram nas
formaes sedimentares antigas que se apresentam como paredes abruptos, de
nveis modestos.
Outra caracterizao de traos morfolgicos no litoral Sul reside no grande nmero
de sambaquis e cacheiros, atestando, os primeiros, a presena de antigas
populaes indgenas e os segundos evidenciam a dinmica da sedimentao
marinha da regio, em funo das variaes do nvel do mar.
Clima
O clima de uma determinada localidade formado por uma complexa interao
entre os continentes, oceanos e as diferentes quantidades de radiao recebida do
sol. O giro da Terra em torno deste astro faz com que essa quantidade de energia
recebida em cada localidade varie ao longo do ano, criando um ciclo sazonal
responsvel pelas estaes de vero, outono, inverno e primavera.
Em Santa Catarina esta variao sazonal do clima bastante definida por causa da
localizao geogrfica. No vero, quando os raios solares esto chegando com
416
maior intensidade, a quantidade de radiao solar global recebida chega a 502
cal/cm
2;
no inverno, esse fluxo bem menor e fica em torno de 215 cal/cm
2
.
Tambm no inverno, a freqncia de insero de frentes frias e massas de ar frio
muito maior e contrastam com as altas temperaturas de vero, geradas pela
permanncia da massa de ar tropical. As estaes de transio, outono e primavera,
mesclam caractersticas das duas outras estaes. Alm das variaes sazonais
associadas ao movimento da Terra em torno do sol, a orografia (distribuio das
montanhas) de Santa Catarina e a proximidade do mar so os grandes responsveis
pelas diferenas de clima existente entre as diversas localidades do estado.
A altitude da plancie litornea varia de 0 a 300 m. Logo que se sobe a Serra do Mar,
no Planalto Serrano e no Meio Oeste, as altitudes variam entre 800 e 1500 m; mais
para oeste, as altitudes vo diminuindo at atingirem uns 200 metros no extremo
oeste. Toda essa variao de altitude e distanciamento do mar faz com que o clima
varie bruscamente entre uma regio e outra; as temperaturas, por exemplo, podem
variar mais de 10 graus entre os Planaltos e o Litoral.
Solos
Os solos de fertilidade natural elevada ocupam uma rea de 21% da superfcie do
Estado, que podem ser utilizados, praticamente, para qualquer tipo de cultivo,
inclusive os anuais.
Quase 60% dos solos so classificados como de baixa fertilidade natural,
necessitando de correo para uma produo agrcola boa, fato que no tem
perturbado seu aproveitamento por uma agricultura que tem exibido alguns dos
melhores ndices de produtividade do Pas.
O uso potencial das terras de Santa Catarina de 6.878.000 hectares, dos quais so
usados 4.669.000 hectares por lavouras, pastagens e reflorestamento. Os estudos
feitos sobre o subsolo do estado so bastante completos, revelando-o como um dos
mais ricos do Brasil. Santa Catarina possui a terceira maior reserva de argila para
cermica do Pas, a primeira maior reserva de carvo mineral para siderurgia, a
segunda maior reserva de fosfatados naturais, a segunda maior reserva de quartzo,
a primeira maior reserva de fluorita e a primeira maior reserva de slex.
Vegetao
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sc6.html#vege
A vegetao do Estado de Santa Catarina pode ser dividida em 5 formaes
vegetais distintas:
Vegetao Litornea
Predominantemente herbcea e arbustiva, abrange agrupamentos e associaes
vegetais influenciadas pelo oceano. Totalmente condicionadadas ao fator edfico,
so agrupamentos tpicos, denominados como mangues, restingas, dunas e praias.
417
Mangues
Nas baas, nas reentrncias do mar e desembocaduras do rios desenvolvem-se os
manguezais, onde predominam espcies arbustivas e pequenas rvores como:
Avicennia schaueriana (siriba), predominando principalmente nas Ilhas de So
Francisco do Sul, a Rhizophora mangle (mangue-vermelho), a Laguncularia
racemosa (mangue-branco) e os capins praturs (Spartina densiflora e Spartina
alterniflora). Tambm encontram-se neste hbitat a uvira ou algodoeiro-da-praia
(Hibiscus tiliaceus) e a samambaia-do-mangue (Acrostichum danaefolium).
Restingas
Com fisionomias diversas, em terrenos arenosos mais firmes e menos ondulados e
em reas posteriores s dunas, a vegetao pode ser caracterizada de porte
herbceo a porte arbreo. Nas restingas catarinenses, predominam as mirtceas,
destacando-se com porte arbustivo os gneros Myrcia, com o exemplar muito
freqente, o cambu (Myrcia multiflora) e Eugenia, com o exemplar guamirim
(Eugenia catharinae). De porte arbreo, destaca-se a Weinmannia paulliniaefolia, a
Lagara hyemalis e Fuchsia regia.
Dunas
Ocorre predominantemente nas dunas semi-fixas a aroeira-vermelha (Schinus
terebinthifolius) e o pau-de-brugre (Lithraea brasiliensis), juntamente com a
capororoca (Rapanea parvifolia), a maria-mole (Guapira opposita), o guamirim
(Gomidesia palustris), a cana (Ilex dumosa) e outras.
Praias
Em solos muito arenosos, destacam-se as espcies salsa-da-praia (Ipomoea
pescaprae), a grama-da-praia (Paspalum varginatum), o pinheirinho-da-praia
(Remirea maritima), o feijo-boi (Canavalia obtusifolia) e outras.
Floresta Ombrfila Densa (Floresta Atlntica)
Formao vegetal exuberante, complexa e subdividida em sub-formaes, quanto
composio, estrutura e aspecto fitofisionmico. Ocupa uma grande parte do estado,
margeando o Oceano Atlntico e ao mesmo tempo estendendo-se em direo ao
interior, no Vale do Itaja. Ao norte da costa catarinense, bem como no Vale do Itaja,
as encostas so muito ngremes, formando vales estreitos e profundos, cobertos por
densa floresta at quase o alto. Nos topos dos morros h uma vegetao bem
caracterstica, conhecida como mata nebular.
A Floresta Atlntica formada por grupos arbreos densos, intercalados por
diversos estratos compostos por rvores, arvoretas e arbustos. A seqncia segue
com o estrato das rvores, arvoretas, arbustos e por ltimo o estrato herbceo.
Apresenta ainda uma diversidade de epfitas, representadas pelas bromeliceas,
orquidceas, arceas, piperceas, gesnericeas, cactceas e diversas famlias de
samambaias (Pteridfitas) e grande nmero de lianas lenhosas.
418
Na subformao das plancies quaternrias, predominam tipos caractersticos
quanto composio e ao aspecto fisionmico. representado por espcies como:
Tapirira guianensis (cupiva), a Ocotea pretiosa (sassafrs), Nectandra rigida
(canela-garuva), Caloplhyllum brasiliense (guanandi) e Alchornea triplinervea
(Tanheiro ). Nas depresses do terreno e prximo a pequenos cursos de gua,
ocorre a Richeria australis (pau-de-santa-rita). Algumas arvoretas que predominam
no estrato mdio desta floresta: Guarea lessoniana (baga-de-morcego), Guatteria
dusenii (cortia), Pera glabrata (seca-ligeiro).
Nas encostas da Serra do Mar, dominam o estrato das rvores: Sloanea guianensis
(laranjeira-do-mato), Ocotea catharinensis (canela-preta), Guapira opposita (maria-
mole), o Brosimopis lactescens (leiteiro) e o Chrysophyllum viride (agua). No estrato
abaixo dominam a juara ou palmiteiro (Euterpe edulis).
Na rea compreendida entre os municpios de Joinville e Campo Alegre, o terreno
irregular e acidentado, predominado por uma vegetao caracterizada pela
abundncia da Nectandra lanceolata (canela-amarela), a Sloanea lasiocoma
(sapopema), e densos taquarais, onde predomina a Merostachys multiramea
(taquara-mansa).
Na encosta centro-norte, baixo vale do Itaja, predominam as florestas de encostas,
onde as rvores atingem um desenvolvimento bom devido aos solos profundos. Das
rvores mais importantes destaca-se a Ocotea catharinensis (canela-preta), com
troncos grossos e copas frondosas. Como outras espcies de importncia, a
laranjeira-do-mato (Sloanea guinanensis), o tanheiro (Alchornea triplinervea), o
palmiteiro (Euterpe edulis).
Na parte caracterizada por florestas de encostas ngremes, a composio bastante
complexa, predominando a Ocotea catharinensis (canela-preta), associada
Chrysophyllum viride (agua) e ao palmiteiro (Euterpe edulis). Nas enconstas
ngremes (aparados da serra), nas Serras da Peroba, da Pedra e outras, e em
morros, encontra-se uma vegetao caracterizada pela presena do Baguau
(Talauma ovata), maria-mole (Guapira opposita), peroba-vermelha (Aspidosperma
olivaceum), bicuba (Virola oleifera), alm de adensamentos de palmiteiros.
Na rea entre Jaguaruna-Tubaro e o extremo sul, predominam plancies de
sedimentao marinha e terrestre, onde se presencia uma vegetao caracterstica ,
adaptada s condies edficas do local. Algumas espcies se sobressaem como
Ficus organensis (figueira-de-folha-mida), Myrcia dichrophylla e Myrcia glabra
(guamirins). Nos topos mais elevados, onde o solo raso e o terreno bastante
inclinado, encontra-se uma vegetao tpica e uniforme, tendo como representantes:
Clusia criuva (mangue-de-formiga), Lamanonia speciosa (guaraper), Ilex theezans
(congonha), e outras.
Ao longo dos aparados da Serra Geral e nas cristas da Serra do Mar, com altitudes
acima de 1.200 m, presencia-se uma vegetao que foi formada por correntes elias
quentes, midas e ascendentes da costa atlntica, caracterizadas pela baixa altura,
pela tortuosidade dos troncos, esgalhamento rijo, galhos repletos de musgos e
encobertas por fortes neblinas.
419
Floresta Ombrfila Mista (Floresta com Araucria)
Uma grande parte de Santa Catarina est coberta por florestas onde o pinheiro-do-
paran (Araucaria angustifolia) predomina no estrato superior e caracteriza a regio.
Nesta floresta, o estrato superior composto pelo pinheiro-do-paran, seguido por
um estrato abaixo dominado pelas Laurceas formando uma cobertura densa.
Nas imediaes da Bacia Pelotas-Canoas, a vegetao caracteriza-se por manchas
de florestas intercaladas por campos. Suas concentraes maiores se localizam
perto dos grandes rios, vales e encostas, enquanto que nos terrenos ondulados
predominam os campos e capes. Na zona dos Campos de Lages, predominam as
canelas, Ocotea pulchella (canela-lajeana), Nectandra lanceolata (canela-amarela),
Nectandra grandiflora (canela-fedida) e Cryptocarya aschersoniana (canela-fogo).
H um pequeno grupo de rvores que crescem nas submatas dominadas pela
canela-lajeana, como o camboat (Matayba aelaegnoides), o miguel-pintado
(Cupania vernalis), a pimenteira (Capsicodendron dinisii) e outras. No extremo oeste,
no estrato abaixo do pinheiro-do-paran, encontram-se o angico-vermelho
(Parapiptadenia rigida), a grpia (Apuleia leiocarpa) e outras.
De 700 a 1.200 metros de altitude, verifica-se o predomnio de espcies que
preferencialmente ocorrem em solos rasos e prprios de encostas abruptas. s
vezes intercalando-se vegetao arbrea rala, h extensos campos secundrios,
formados por gramneas. Essa rea denominada de faxinal, composta por uma
vegetao tpica, rala, com rvores menores e irregulares, acompanhados por
taquarais e carazais no estrato abaixo. Algumas espcies caractersticas desta
formao so guamirins (Myrceugenia cuosma), vassouro-branco (Piptocarpha
angustifolia), capororocas (Rapanea umbellata), orelha-de-gato (Symplocos spp.),
pau-toucinho (Vernonia discolor), pessegueiro-brabo (Prunus sellowii).
Campos
Ocorrem em Santa Catarina campos limpos e campos sujos. Nos campos
predominam agrupamentos herbceos formados por Gramineas, Ciperceas,
Leguminosas e Verbenceas que caracterizam a fisionomia. Predominam certas
espcies como: Baccharis gaudichaudiana (carqueja-do-campo) e Baccharis
uncimella (vassoura-lajeana). Entre as gramneas mais comuns: capim-caninha
(Andropogon lateralis), capim forquilha (Paspalum notatum), capim-pluma
(Andropogon macrothrix), capim-serenado (Eragrostis polytricha), e o capim-barba-
de-bode (Aristida pallens).
Ao longo dos Rios Negro e Iguau, caracterizam-se os campos edficos ou de
inundao, os terrenos so baixos e planos. Predominam as gramneas, ciperceas,
verbenceas e compostas.
Na floresta nebular, encontram-se manchas de campos com caractersticas prprias,
os campos de altitude. Alm das ciperceas e gramneas, ocorrem turfeiras,
formadas por musgos.
Floresta Estacional Decidual
Acompanhando o Rio Uruguai, de 600 a 800 metros de altitude, apresenta-se uma
floresta totalmente isenta de pinheiro-do-paran e com estrutura distinta, compostas
420
por rvores deciduais como Apuleia leiocarpa (grpia), a Parapiptadenia rigida
(angico), a timbava (Enterolobium contortisiliquum) e outras. Sob esta cobertura,
caracteriza-se uma formao densa formada por rvores pereniflias, predominando
as canelas.O estrato das arvoretas uniforme, predominando a laranjeira-do-mato
(Actinostemon concolor) e a sororoca (Sorocea bomplandii).
Hidrografia
Os rios catarinenses se dirigem para duas vertentes: a do Atlntico e a do Paran.
Os que drenam as Zonas de So Francisco, Itaja, Florianpolis e Laguna se
orientam no sentido do mar, enquanto os que drenam reas do Planalto de
Canoinhas, Alto Rio Negro, Campos de Lajes, Joaaba e Chapec esto vinculados
Bacia Platina, constituindo-se as principais artrias tributrias de grande coletores
como o Iguau e o Uruguai.
As bacias hidrogrficas litorneas cobrem rea mais extensa do que as Bacias do
Iguau e Uruguai. Muitas bacias litorneas, como a do Tubaro, Ararangu, Itaja-
Au tm como divisor a escarpa da Serra Geral. Algumas situadas na poro
Nordeste do estado tm como divisor, entre duas vertentes, as Serras Cristalinas,
enquanto outras, da poro centro oriental, tm divisores inscritos na prpria regio
da vertente Atlntica. A principal linha divisria, responsvel pela orientao geral da
drenagem representada pela escarpa da Serra Geral, um tanto retalhada pela
eroso regressiva que tende ao recuo das cabeceiras.
Este fenmeno de eroso regressiva exaltada, entre os fornecedores Itaja-Au
que escavaram e removeram sedimentos paleozicos, de resistncias menor do que
os basaltos da Serra Geral. provvel que esta ao tenha sido tambm
condicionada por dobras de fundo que lhe acentuaram o gradiente dos perfis dos
rios, aumentando-lhes o poder de eroso e transporte. De qualquer modo, a
resultante geral consiste na ampla bacia hidrogrfica da vertente Atlntica que se
interioriza mais do que as outras, possibilitando a mais aberta articulao entre o
Litoral e o Planalto, atravs dos vales entalhados dos cursos superiores.
421
No Planalto, a Serra do Espigo representa outro divisor importante que separa as
guas que rumam para o Norte, para o Iguau, e as que descem num rumo geral
para Sudoeste, em direo ao Rio Uruguai.
O regime pluviomtrico do estado e de reas prximas caracterizado pela relativa
regularidade da distribuio do montante de chuvas anuais. O comportamento dos
rios, sob o ponto de vista de suas pulsaes, reflete bem essa distribuio regular de
chuvas, pois so abastecidos de guas que descem das encostas e que
indiretamente fluem dos lenis subterrneos durante o ano, com variaes poucos
acentuadas.
A cidade de Blumenau uma das que tm sido vitimadas por inundaes do Rio
Itaja-Au, enquanto outras localidades ao longo do vale no so afetadas na mesma
poca. A disposio do traado linear, acompanhando o terrao fluvial que, em
realidade, constitui seu leito maior.
A plancie deltaica do Rio Tubaro se presta para maior utilizao da rizicultura. As
enchentes da regio, em muitos casos, ao contrrio de trazerem malefcios, so
fatores de desenvolvimento de atividades econmicas.
As Bacias do Iguau e do Uruguai no apresentam casos particulares de rupturas
acentuadas dos nveis das guas de modo a significar problemas graves para as
populaes. Tanto um quanto outro so tributrios do Rio Paran, coletando
considervel massa d`gua de numerosos fluxos que drenam reas catarinenses e
de outros estados.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/sc7.html#turi
Possuindo aspectos culturais ligados histria e s etnias que formaram a
populao de Santa Catarina, como a portuguesa, a alem, a italiana, tambm os
aspectos geogrficos contribuem para a beleza e a diversidade dessa terra
privilegiada pela natureza.
Em certos pontos, praias, serras, vales e planaltos podem ser apreciados em um s
circuito de apenas duas ou trs horas.
Num estado onde tudo parece ter sido meticulosamente disposto, sua capital s
poderia ficar numa ilha, localizada exatamente na metade dos seus 560 Km de
litoral, dividido-o em orla norte e orla sul.
Atraes Tursticas
Litoral Catarinense
Com uma extenso de aproximadamente 561,4 km, o litoral catarinense tem suas
centenas de praias, sendo algumas ainda agrestes, apropriadas para o mergulho
submarino e o ecoturismo, como as de Porto Belo e Bombinhas; outras, de mar
bravo, como as da Ferrugem e do Silveira, em Garopaba, e Joaquina, em
422
Florianpolis so muito procuradas para a prtica do surfe.
S a capital catarinense tem 42 praias para todos os gostos, desde aquelas
bastante urbanizadas at as que ainda so reduto de pescadores. Florianpolis,
Garopaba e Balnerio Cambori, juntos, formam os centros mais movimentados do
vero catarinense. Ao rla do estado catarinense recebe em mdia cerca de 1,5
milho de turistas nos meses de vero.
Demais cidades que fazem parte do circuito: Itapema, So Francisco do Sul, Barra
Velha, Piarras, Penha, Imbituba, Laguna, Ararangu, Governador Celso Ramos,
Itapo, Palhoa, Navegantes, Araquari, Passos de Torres, Iara, Itaja entre outras.
Neve de Santa Catarina
So Joaquim, a cidade com o clima mais frio do Pas, fica a uma altitude de 1.300
metros. No inverno, a paisagem coberta pela neve e pela geada. L ages,
Urupema, Fraiburgo, Bom Jardim da Serra e Urubici so outras cidades cujos
campos ficam repletos de branco e com baixas temperaturas.
Na cidade de Lauro Mller, as curvas vertiginosas da estrada na Serra do Rio do
Rastro so encravadas na rocha. A paisagem deslumbrante, muitas vezes com o
topo coberto pela neve, a 1.400 metros de altitude.
Turismo Rural
Considerado modelo no Pas, o turismo rural em Santa Catarina bastante
praticado. O planalto serrano possui inmeros atrativos e excelentes hotis
fazenda. Nestes hotis, pode-se acompanhar todas as atividades dirias de uma
fazenda tpica da regio, como ordenha, plantio, cavalgadas. Pode-se, ainda,
realizar passeios ecolgicos e saborear a culinria crioula.
Lages, So Joaquim, Bom Jardim da Serra, Santo Amaro da Imperatriz, So Pedro
de Alcntara, Florianpolis, Joinville, Cambori, Urubici, Urupema, Massaranduba e
Urussanga so as cidades onde se prtica o turismo rural.
Termas Catarinenses
So inmeras fontes, com guas temperatura de at 38C. Nas estncias, h
inmeros hteis de excelente qualidade, localizados nas cidades de Gravatal,
guas Mornas, Tubaro, So Carlos, Quilombo, Santo Amaro da Imperatriz,
Piratuba, guas de Chapec, Palmitos e So Joo do Sul, esta com guas termais
salgadas.
Turismo Ferrovirio
As antigas locomotivas a vapor "Maria Fumaa" ainda cortam trilhos em certas
regies catarinenses, atravessando tneis, pontes, gargantas e paisagens rurais,
com paradas nos pontos mais interessantes.
Na regio Norte, o roteiro inclui as cidades de So Francisco do Sul, Joinville,
423
Guaramirim, Jaragu do Sul, Corup, Rio Negri nho e So Bento do Sul. Na regio
Sul, passa por Urussanga, Tubaro e Imbituba. Na regio do Meio-Oeste, os trilhos
cortam tambm Caador e Videira.
Em Cricima, no se pode deixar de fazer uma visita Mina Modelo Caetano
Snego, recuperada para o turismo em 1984. Localizada no bairro Mina Brasil,
permite uma viagem mgica ao mundo subterrneo de carvo de pedra. A mina
modelo de Cricima conta com trenzinho, museu, bar, painis didticos e a imagem
de Santa Brbara, a padroeira dos mineiros; por suas caractersticas artesanais,
a nica no mundo aberta visitao pblica. Mantm tambm o projeto escola,
destinado aos alunos do primeiro grau e a universitrios.
Turismo Religioso
o dia 15 de agosto, milhares de romeiros chegam a Brusque, no Vale do Itaja,
vindo prestar homenagem Nossa Senhora do Caravaggio, que tem o seu
santurio nesta cidade.
J em Nova Trento, no Vale do Rio Tiju cas, a atrao o Santurio de Nossa
Senhora de Lourdes. No local, encontra-se o Museu da Bem-Aventurada Madre
Paulina, beatificada pelo Vaticano.
A Igreja Matriz do Santssimo Sacramento, localizada em Itaja, tambm chama a
ateno. Seu interior, pintado pelos arti stas italianos Aldo Locatelli e Emlio Cessa,
abriga uma colossal esttua de Moiss esculpida pelo renomado artista Teichmann
da cidade catarinense de Pomerode.
Por ltimo, em Angelina, o Santurio Mariano, formado pela Gruta Imaculada
Conceio e por 14 estaes de Via Sacra, local de peregrinao dos fiis.
Turismo Ecolgico
A natureza foi generosa para os aventureiros e esportistas radicais em Santa
Catarina. A prtica do montanhismo constante no Parque Nacional de Aparados
da Serra e no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Afora tudo isso, ainda h:
explorao de cavernas em Botuver, passeios no interior da Floresta Atlntica,
trilhas ecolgicas em Fraiburgo, rafting nas corredeiras do Rio Itaja-Au, e o litoral
privilegiado para a prtica do surf. Em matria de ecoturismo, o estado um
verdadeiro catlogo, de diversidade e qualidade.
Cidades que fazem parte do circuito: So Francisco do Sul, Campo Alegre, So
Bento do Sul, Corup, Pomerode, Ibirama, Apina, Lages, Urupema, So Joaquim,
Urubici, Lauro Mller, Orleans, Taquaras, Santo Amaro da Imperatriz, Florianpolis,
Timb do Sul, Abelardo Luz, Rio do Sul, Itapo, Palhoa, Praia Grande, Bom
Jardim da Serra, Cambori, Urussanga e Massaranduba.
Festas Populares
Turistas de todo o Brasil e do mundo reconhecem: outubro festa em Santa
Catarina. O melhor referencial a Oktoberfest de Blumenau, considerada a
424
segunda maior festa popular do Pas. So muitos dias de entretenimento, regados
com mais de um milho de litros de chope, ao som de bandas tpicas.
A festa envolve muitas outras cidades do estado: Fenarreco, Festa Nacional do
Marreco, em Brusque; Marejada, Festa Portuguesa e do Pescado, em Itaja; S
chtzenfest, em Jaragu do Sul; Kegelfest, Festa Nacional do Bolo, em Rio do
Sul; Fenachopp, Festa Nacional do Chopp, em Joinville.
Ainda em So Bento do Sul, h a Polski Festyn; em Itapiranga, a Oktoberfest; e,
em Treze Tlias, a Tirolerfest; e ainda a Quermesse em Cricima.
Parques Temticos
Um dos maiores centros de lazer e entretenimento do mundo, o Beto Carrero World
ocupa 14 milhes de metros quadrados no Balnerio da Penha, litoral - centro do
estado. Com uma moderna estrutura de lazer e gastronomia, dispe de atraes
como a montanha russa Star World, uma das maiores do mundo, o Maximotion, a
ferrovia Dinomagic e seus animais pr-histricos, o zoolgico e muitos shows,
como Excalibur e frica Misteriosa.
O Parque Cyro Gevaerd, em Balnerio Cambori, tem diverses para todos os
gostos e idades. Desfrute do encantamento da mini-fazenda, do mini-zoo, do
Tartarugrio, do Museu Arqueolgico e Oceanogrfico, do Aqurio, do Museu de
Aves, mamferos e rpteis e da rea Botnica.
O Parque Zoobotnico de Brusque, situado no centro da cidade, ocupa uma rea
de 150 mil metros quadrados de lazer e tranqilidade. Apresenta 600 espcies de
animais que vivem em alojamentos especiais, espalhados ao longo de 3.200
metros de trilhas pavimentadas. No interior do parque, est o mini-pantanal,
povoado com animais e aves que reproduzem, em cinco lagos, o ambiente do
Pantanal mato-grossense.
Em Pomerode, "a cidade mais alem do Brasil", encontra-se um zoolgico nico,
fundado e mantido pela tradicional famlia Weege , o qual vem encantando
geraes de catarinenses e turistas de outros estados, pela sua singularidade e o
carinho dedicados aos animais e aves que hospeda.
A cidade de Gaspar, pertinho de Blumenau, tem como suas principais atraes os
Parques Aquticos Cascata, Carolina e Cascania, com tobogs e piscinas, tudo
inserido estrategicamente dentro de uma reserva da Floresta Atlntica.
Turismo Nutico
A exuberncia do entrecortado litoral catarinense proporciona aos visitantes a
oportunidade de conhecer belssimas praias e ilhas paradisacas, e de aproveitar o
mar de guas transparentes para a prtica do mergulho de observao da rica
fauna e conhecer os mais encantadores costes do sul do Pas.
Alm disso, o visitante tambm poder optar por outros roteiros, navegando em
embarcaes especialmente projetadas, em rios caudalosos e lagoas exuberantes,
425
onde a natureza se sobressai por inteiro.
Cidades que fazem parte desse circuito: Balnerio Cambori, Bombinhas,
Florianpolis, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itaja, Itapema, Joinville,
Laguna, Porto Belo, So Francisco do Sul e Tubaro.
Turismo de Observao
A Baleia Franca - Eubalaena australis - um monumento natural do Estado de
Santa Catarina, isto porque este fantstico cetceo, em extino em todo o
planeta, se reproduz em guas do litoral catarinense no perodo de maio a outubro,
transformando as costas catarinenses em um verdadeiro "berrio marinho". Nesse
perodo, as baleias se aproximam muito da praia - de 20 a 30 metros em alguns
lugares - proporcionando um belo espetculo aos turistas que praticam o chamado
Turismo de Observao.
Este fenmeno ocorre desde o Balnerio de Morro dos Conventos, no sul do
estado, at as enseadas de Bombinhas no litoral - centro.
Esportes
Os adeptos dos chamados esportes radicais procuram a Ilha da Magia, como
conhecida Florianpolis, praticando windsurf,jet-sky,parapente, assim como regatas
ocenicas de todas as espcies.
A Joaquina, praia com maior preferncia e onde ocorrem vrios campeonatos,
nacionais e internacionais de surfe, proporciona aos surfistas ondas equivalentess
dos melhores locais do planeta para essa prtica desportiva. Os praticantes do
surfe tambm se divertem em Garopaba, Imbituba e Laguna, dentre outras.
O rafting pode ser praticado nas corredeiras do Rio Itaja-Au em Ibirama.
Canelinha e Santo Amaro da Imperatriz dispem de bem estruturadas pistas para a
prtica do moto-cross. Para o trecking, existem trilhas e pistas especiais em,
praticamente, todo o estado. Em Florianpolis, acontecem provas automobilsticas
de diversas categorias dos campeonatos nacional e sulamericano.
Demais cidades que fazem parte circuito: Joinville, Blumenau, So Bento do Sul,
Rio do Sul, Chapec, Concrdia, Rio Negrinho, Indaial, Rodeio, Tai, Brusque,
Jaragu do Sul, Lages, Arabut, Cricima, Gaspar, Piarras, Videira, Jaguaruna,
Pomerode, Itaja, So Joo Batista, Itapema, Joaaba, So Francisco do Sul,
Balnerio Cambori, Iara, Porto Belo, Tubaro, Palhoa, Bombinhas e Ararangu.
426
Pontos Tursticos
Campo dos Padres
No alto da Serra do Corvo Branco, entre rios cristalinos, a Floresta com Araucria
muito fria; o Campo dos Padres um verdadeiro sonho de liberdade. praticado
trecking na serra catarinense.
Garopaba
A rotina da antiga vila de pescadores, ao sul de Florianpolis, alterna-se
harmoniosamente entre veres agitados e invernos buclicos de praias desertas,
surfistas e baleias francas.
Vale das Cachoeiras
Uma aventura ecolgica em meio Floresta Atlntica de Presidente Getlio, na
serra catarinense.
Mountain-bike em Florianpolis
Com mais de 20 trilhas repletas de visuais estonteantes, Florianpolis uma
excelente opo para a prtica do ciclismo de montanha, um esporte que atrai
tanto aventureiros radicais como esportistas de fim de semana.
Jaragu do Sul
O progresso e a vida pacata do interior garante a esta cidade catarinense uma
qualidade de vida reconhecida como uma das melhores do Pas.
A magia dos Cristais
A regio de Blumenau uma das maiores produtoras nacionais de cristais.
Florianpolis (Ilha Aoriana)
Florianpolis comemora 250 anos de chegada dos primeiros imigrantes aorianos.
Maria Fumaa
Como retrospectiva, uma nostlgica viagem de Maria-Fumaa, pelas encostas da
serra catarinense, revive a poesia e o encanto de caminhos perdidos no passado.
So Joaquim
Cenrios cobertos de neve, pinheiros e um frio serrano fazem de So Joaquim, no
Planalto Sul Catarinense, uma excelente opo para o turismo de inverno.
Museu do Mar
O museu situado em So Francisco do Sul, costumeiro porto para dezenas de
embarcaes de todos os tipos, um testemunho dos hbitos e costumes do povo
que habita o litoral do Brasil.
Festas de Outubro
Dez festas diferentes marcam a chegada da primavera em Santa Catarina, um
mosaico de etnias regado a cerveja, farta gastronomia e muita msica tpica.
427
Vale do Contestado
No interior de Santa Catarina, um roteiro propricia a visita a caminhos trilhados por
caboclos e soldados durante a guerra civil que vitimou milhares de pessoas no
incio do sculo.
Mercado Pblico de Florianpolis
Mais que um local de comrcio, o Mercado de Florianpolis concorrido ponto de
encontro e uma das maiores atraes tursticas da capital catarinense.
Guarda do Emba
Preferida dos surfistas pela qualidade de suas ondas, a Guarda do Emba
preserva seu cenrio mgico de dunas brancas, rio e mar, sem perder o jeito
buclico de vila de pescadores.
Pomerode
No Vale do Itaja, em Santa Catarina, a cidade mais alem do Brasil alia a cultura
europia a beleza natural para obter uma das melhores qualidades de vida do pas.
So Francisco
Terceira cidade mais antiga do pas, esse importante porto do norte catarinense
guarda em seu Centro Histrico surpreendentes relquias arquitetnicas e culturais.
Parques Florestais
O Estado de Santa Catarina possui a maior rea de floresta nativa e de reservas
da Regio Sul do Brasil, existindo uma preocupao em amenizar o problema do
extermnio de seu patrimnio vegetal natural j bastante comprometido, atravs da
criao de parques florestais e reservas biolgicas, ecolgicas e florestais, para a
preservao de inmeras reas.
A preocupao em preservar os recursos naturais, especialmente as matas,
iniciou-se desde 1975, com a criao do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
No estado existe um total de 35 parques florestais e 12 reservas, que esto
distribudas pelo territrio, do seguinte modo:
Parques florestais nacionais: 13
Parques florestais estaduais: 9
Parques florestais municipais: 11
Reservas nacionais: 8
Reservas estaduais: 4
428
REGIO NORDESTE
ALAGOAS
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/al5.html
Histria, Povoamento e Colonizao
Sob o comando de Duarte Coelho a regio foi retomada pelos portugueses em 1535,
antes disto prevalecia a invaso dos franceses iniciada no sculo XVI (incio). Duarte
Coelho era donatrio da capitania de Pernambuco, organizou expedies e
percorreu a rea onde fundou vilarejos como o de Penedo, alm de incentivar a
plantao de cana-de-acar e a formao de engenhos.
Os holandeses, por sua vez, invadiram Pernambuco em 1630, e ocuparam Alagoas
at 1645, ano em que os portugueses retomaram o controle.
Com a condio de comarca conquistada em 1706, o prximo passo era a
autonomia. Em 1730 contava com 50 engenhos e 10 freguesias progredindo
razoavelmente. Com a emancipao poltica em 1817, houve a elevao de comarca
capitania.
Nos anos seguintes, vrias batalhas ocorreram contra os portugueses em Alagoas.
A Constituio do Estado (11 de junho de 1891) foi um exemplo, devido a agitaes
polticas. Em 1839 Macei passou a ser a sede do governo.
Localizao e rea Territorial
Ao todo, so aproximadamente 2.817.903
habitantes ocupando 27.933,1 km de rea total
no estado.
Alagoas apresenta como limites:
Norte: Pernambuco
Noroeste: Pernambuco
Sul: Sergipe
Leste: Oceano Atlntico
Sudoeste(confluncia com o rio Moxot e So Francisco): Bahia
Trs regies naturais podem ser encontradas no estado de Alagoas: Litoral, Zona da
Mata e Agreste.
Destacam-se alguns dos 100 municpios alagoanos como por exemplo, Macei,
Arapiraca, Palmeira dos ndios, Unio dos Palmares e Rio Largo.
429
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/al1.html
430
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/ral.html
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hal.html
431
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/ial.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
432
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/al2.html
Governo
Govenador: Ronaldo Augusto Lessa Santos
Vice-governador: Geraldo Costa Sampaio
Secretaria Executiva de Turismo - SETUR
Patrcia Arizabal Mouro (secretria)
Avenida Antonio Gouveia, 143 - Pajuara
CEP: 57.020-050
Fone: (0xx82) 3337-1616
Fax: (0xx82) 3315-2424
www.visitealagoas.com.br
Secretaria Executiva de Sade - SESAU
lvaro Antonio Melo Machado (secretrio)
Avenida da Paz, 978 - Jaragu
Cep: 57.025-000
Fone: (0xx82) 3315-1154
www.saude.al.gov.br
Secretaria Executiva do Planejamento - SEPLAN
Mrcio Pinto de Arajo (secretrio)
Rua Cincinato Pinto, 503 - Centro
Fone: (0xx82) 3315-1511
Fax: (0xx82) 3315-1524
www.seplan.al.gov.br
Secretaria Executiva da Educao - SEE
Mauricio Quintella Malta Lessa (secretrio)
Rua Baro de Alagoas, 141 - Centro
Fone: (0xx82) 3315-1234
Fax: (0xx82) 3221-5236
Secretaria Geral do Governo
Jeferson Germano Regueira Teixeira (secretrio)
Pa Mal. Floriano Peixoto, 517
Fone: (0xx82) 3315-2025
Fax: (0xx82) 3315-2037
Secretaria Executiva do Trabalho
Ndia Rodrigues da Silva (secretria)
Rua Silvrio Jorge, 368 - Jaragu
CEP: 57.017-310
Fone: (0xx82) 3315-1851
Fax: (0xx82) 3315-1851
433
Secretaria Executiva de Esportes
Drio da Silva Magalhes (secretrio)
Avenida Siqueira Campos, s/n - Trapiche
CEP: 57.010-000
Fone: (0xx82) 3315-2800 / 3315-2801
Fax: (0xx82) 3221-9393
Secretaria de Estado de Comunicao Social
Joaldo Reide Barros Cavalcante (secretrio)
Praa Marechal Floriano Peixoto, 555 - 1o. Andar
CEP: 57.020-090
Fone: (0xx82) 3315-3605
Fax: (0xx82) 3315-3606
E-mail: secom@secom.al.gov.br
Secretaria Executiva de Cincia e Tecnologia
Francisco Joo Carvalho Beltro (secretrio)
Rua Cincinato Pinto, 503 - 2 Andar
CEP: 57.020-050
Fone: (0xx82) 3315-1586
Fax: (0xx82) 3315-1575
Secretaria Executiva de Assistncia Social
Gilberto Coutinho Freire (secretrio)
Avenida Comendador Calaa, 1399
CEP: 57.025-640
Fone: (0xx82) 3315-2884
Fax: (0xx82) 3315-2878
E-mail: seas@seas.al.gov.br
Secretaria Executiva de Agricultura
Severino Barboza Leo (secretrio)
Rua Cincinato Pinto, 348
CEP: 57.020-000
Fone: (0xx82) 3315-1399
Fax: (0xx82) 3315-1385
Secretaria Executiva de Administrao
Valter Oliveira da Silva (secretrio)
Rua Baro de Penedo, 293
CEP: 57020-050
Fone: (0xx82) 3315-1802
Fax: (0xx82) 3315-1804
Secretaria Executiva da Cultura
Edberto Ticianeli (secretrio)
Rua Comendador Palmeira, 222
Fone: (0xx82) 315-1802
Fax: (0xx82) 3315-1920
434
Secretaria Especializada da Mulher
Vanda Maria Menezes Barbosa (secretria)
Rodovia AL 101 Norte, Km 5 - s/n
CEP: 57.033-370
Fone: (0xx82) 3315-2617
Fax: (0xx82) 3158-2661
Secretaria de Justia e Defesa Social
Roberval Davino da Silva (secretrio)
Rua Gois, 579
CEP: 57.055-904
Fone: (0xx82) 3336-9002
Secretaria Executiva de Meio Ambiente
Ronaldo Pereira Lopes (secretrio)
Rodovia AL 101 Norte, Km 5 - s/n
CEP: 57.020-050
Fone: (0xx82) 3315-2675
Fax: (0xx82) 3351-2680
Secretaria Executiva de Estado da Indstria, Comrcio e Servios
Jos Geminiano Acioli Jurema (secretrio)
Avenida da Paz, 108 - Jaragu
CEP: 57.022-050
Fone: (0xx82) 3315-1102
Fax: (0xx82) 3326-1088
E-mail: seics@seics.al.gov.br
Secretaria Executiva da Fazenda
Eduardo Henrique Araujo Ferreira (secretrio)
Rua General Hermes, 80 - Cambona
CEP: 57.031-170
Fone: (0xx82) 3216-9957
www.sefaz.al.gov.br
rgos Ambientais
Codevasf/IMA - AL
Visa a Cooperao Tcnica na Execuo de Programas Ambientais de Conservao
de Recursos Naturais Renovveis.
Petrobrs/IMA - AL
Desenvolvimento de projeto no Complexo Estuarino Lagunar Munda-Manguaba;
visa identificar as espcies de mangue presentes na rea e o desenvolvimento
destas espcies.
h) Legislao Ambiental Estadual
Lei 3859, de 03/05/1978
Lei 3989, de 13/12/1974
Lei 4090, de 05/12/1979
Lei 4682, de 17/07/1985
435
Lei 4794, de 25/06/1986
Lei 4986, de 16/05/1988
Lei 5008, de 06/07/1988
Lei 5017, de 20/10/1988
Lei 5302, de 19/12/1991
Lei 5310, de 19/12/1991
Lei 5347, de 27/05/1992
Lei 6011, de 08/05/1988
Decreto 4302, de 04/06/1980
Decreto 33410, de 28/03/1989
Decreto 37402, de 13/01/1998
Decreto 38319, de 27/03/2000
Decreto 38443, de 27/06/2000
i) Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/al3.html
Programa de Educao Ambiental
O Programa de Educao Ambiental visa, em primeiro lugar, modificar os hbitos
dos parceiros do Projeto, criando entre as comunidades uma mentalidade
conservacionista que venha a garantir para as geraes futuras uma melhor
qualidade de vida, buscando o uso harmnico dos recursos naturais e implantando
os princpios do desenvolvimento sustentvel da regio. Para xito da proposta,
diversas metas foram programadas e executadas, conforme o quadro a seguir
demonstra:
Metas Previstas Executadas
Palestras em comunidades irrigantes e escolas 50 379
Cursos de Fiscais voluntrios 05 05
Treinamento de Fiscais Ambientais Voluntrios 150 152
Campanhas de Educao Ambiental 05 29
Curso de Auditoria Ambiental 02 02
Tcnicos treinados em Auditoria Ambiental 15 59
Os cursos realizados, em nmero de cinco, apresentaram a seguinte distribuio
espacial e pblico:
436
N
Local
Carga Horria Participantes
01 Sede da CODEVASF - 5 SR 40 hs 22
02 Pov. da Marituba do Peixe 40hs 40
03 Povoado de Ipiranga 40hs 18
04 Projeto Itiba 40hs 32
05 Sede da CODEVASF - 5 SR 40hs 40
No decurso da vigncia do Convnio, foram proferidas 379 palestras sobre
preservao ambiental, reflorestamento, a mata atlntica brasileira e sua
importncia, cuidados com os recursos hdricos, direitos e deveres da cidadania,
legislao ambiental, plantas medicinais, a casa e o meio ambiente, produo e
consumo, cuidados com os agrotxicos, impactos ambientais negativos, dentre
outras. Tais palestras foram proferidas por tcnicos do IMA, e pelas guarnies da
Companhia de Polcia Florestal sediada em Ponta Mofina, em comunidades,
associaes, escolas e nos permetros de irrigao.
Um curso de Auditoria Ambiental, composto de tres mdulos, foi implantado no
programa, visando capacitar os tcnicos dos rgos Ambientais e da CODEVASF
(todas as Superintendncias Regionais), a identificarem situaes de
desconformidade ambiental, sugerir aes que visem corrigir os passivos ambientais
identificados e preparar os projetos no licenciados a estarem capacitados para o
enquadramento legislao pertinente. Isto significa: os projetos estarem aptos a
serem submetidos a uma auditoria ambiental e, aps aprovao, serem licenciados
pelos orgos licenciadores estaduais.
Foram realizadas, ainda, 29 campanhas de educao ambiental, entre irrigantes e
escolares, buscando estimular e desenvolver o senso de responsbilidade para as
atividades protecionists da natureza.
Fonte:Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas IMA/AL
Programa de Monitoramento de gua
O Programa visa o monitoramento da qualidade das guas do rio So Francisco e
dos canais de drenagem, adotando-se anlises fsico-qumica e bacteriolgica
dentro dos seguintes parmetros: OD, DBO, RS, temperatura, turbidez, pH,
coliformes totais e coliformes fecais. A programao do plano de trabalho
demonstrada no quadro abaixo:
Metas Previstas Executadas
Implantar Laboratrio Ambiental em Penedo 01 01
Treinar Auxiliares de Laboratrio 03 11
Auxiliares de Laboratrio treinados 12 09
Anlise da gua do Rio So Francisco 80 344
Anlise da gua nos Projetos 80 254
437
Dentro do programa demonitoramento da qualidade de guas, foram selecionadas
16 estaes de coleta, determinando-se a incidncia de campanha para intervalos
de 21 dias, considerando-se para os irrigantes dos projetos da Companhia, no baixo
So Francisco.
Distribuio dos Pontos de Coleta
N do Ponto Localizao
01 Rio So Francisco - Montante da cidade de Penedo
02 Rio So Francisco - Jusante da cidade de Penedo
03 Rio So Francisco - Ponta Mofina
04 Rio So Francisco - Montante de Penedinho
05 Rio So Francisco - Jusante de Penedinho
06 Riacho do Calixto - Estrada velha de Penedo
07 Rio So Francisco - Captao de Itiba n1 - EB2
08 Rio So Francisco - Captao de Itiba n2 - EBP
09 Drenagem do Distrito - Sada dos Canais
10 Rio So Francisco - Captao de Boacica
11 Rio So Francisco - Drenagem de Boacica
12 Escritrio do Distrito de Boacica
13 AL 225 - Ponte do Perucaba
14 AL 225 - Ponte Marituba
15 Rio Perucaba - AL 110 - Montante da PAISA
16 Rio Perucaba - Jusante da PAISA
Fonte: Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas IMA/AL
Programa de Reflorestamento
O Programa de Reflorestamento previa inicialmente a produo e o plantio de
10.000 mudas de rvores de espcies nativas e 2.000 mudas frutferas. No segundo
plano de trabalho resolveu-se ampliar esta meta para 50.000 mudas de espcies
nativas, 10.000 mudas de frutferas e 10.000 de rvores alternativas como fonte de
energia. Esta meta no foi atingida devido a problemas que surgiram do decorrer
dos trabalhos.
O quadro abaixo demonstra o estgio atual deste programa:
438
Metas Previstas Executadas
Produo de mudas nativas e seu plantio 50.000 16.940
Produo de mudas frutferas e seu plantio 10.000 6.205
Produo de mudas energticas 10.000 6.910
Mudas distribudas conforme utilizao:
Mudas de Nativas
Espcies Quantidades
Jatob 2.300
Visgueiro 840
Ip 1.310
Mulungu 760
Cedro Rosa 3.150
Jacarand 100
Barriguda 700
Sabonete 45
Guapuruvu 1.400
Sombreiro 1.620
Sabi 1.250
Diversas 3.465
Total 16.940
Mudas de Frutferas
Espcies Quantidades
Tamarindo 650
Cajazeiro 250
Cajueiro 1.800
Brinco de Viva 440
Mangaba 100
Manga 500
Jaca 250
439
Jambo 750
Jenipapo 300
Pitanga 530
Diversas 635
Total 6.205
Mudas de Energticas
Espcies Quantidades
Algaroba
1.370
Gliricdia
1.500
Eucaliptos
3.000
Leucena
350
Diversas
690
Total
6.910
Fonte:Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas IMA/AL
Total produzido, distribudo e/ou plantado............30.055
Programa de Fiscalizao Ambiental
O Programa de Fiscalizao Ambiental apresenta duas linhas diferenciadas de
atuao. Uma vertente de trabalho diz respeito s aes de fiscalizao ambiental
executadas pelos tcnicos do IMA-AL na rea; a segunda identifica aes da Polcia
Ambiental e executada pela Companhia de Polcia Florestal e de Mananciais da
Polcia Militar de Alagoas (Cia. Pflo), em convnio com o IMA.
Para a execuo do programa, o Convnio construiu, no canteiro de obras do
Projeto Marituba, uma pequena unidade militar, com escritrio, alojamentos para
oficiais e para os praas, refeitrio, estao de rdio e garagem coberta para viatura
e a lancha.
As atividades de fiscalizao executadas pelos tcnicos do IMA, bem como aquelas
desenvolvidas pelos policiais militares da Companhia Florestal, em 95% dos casos,
foram para atendimento de denuncias apresentadas pelos Fiscais Voluntrios,
treinados dentro do programa.
440
Metas para este programa:
Metas Previstas Executadas
Construo de Posto Policial na Marituba 01 01
Fiscalizaes Ambientais por tcnicos do IMA 80 526
Aes da Polcia Ambiental (Cia. Pflo) 80 565
Apreenses de equipamentos clandestinos de caa,
pesca e desmate
- 417
Aes conjuntas com outros orgos - 114
Restao de socorro s comunidades
Fonte:Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas IMA/AL
j) Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/al5.html
marcado por baixas altitudes. 1% do territrio est acima dos 600m, 61% abaixo
dos 200m e 86% abaixo dos 300 metros de altitude. Apresenta quatro unidades
geomorfolgicas.
Baixada Litornea
Prolonga-se da fronteira com o Pernambuco at as margens do rio So Francisco
em uma largura de 25km aproximadamente. Ocorre nesta unidade uma faixa de
tabuleiros arenticos, cujas elevaes tm seu topo plano atingindo 100m de altura.
Pediplano
Ocupa a maior parte do interior do estado, relativamente plano, pequenas
ondulaes formam serras e picos, algumas dessas ondulaes destacam-se, como
a Serra da Mata Grande e da gua Branca a oeste de Alagoas, com altitudes na
faixa dos 500 metros.
Encosta Meridional do Planalto da Borborema
Est situada na regio centro-norte; corresponde a 1% do territrio com altitudes
superiores a 600 metros.
Plancies Aluviais ou Vrzeas
Tem sua ocorrncia registrada ao longo dos rios da regio, estendendo-se at a
plancie e o delta do So Francisco. Devido a sua proximidade com os cursos
d'gua, estas reas esto sujeitas a inundaes.
441
Hidrografia
Tem incio no planalto da Borborema seguindo para o Atlntico e os afluentes do rio
So Francisco.
Seguindo em direo ao oceano Atlntico esto os rios Manguaba, Camarajibe,
Munda, Paraba do Meio e Coruripe.
Merece destaque o rio So Francisco na regio. Serve como divisa natural entre os
estados de Alagoas, Sergipe e Bahia, onde est localizada a Usina de Paulo Afonso.
Dentre seus afluentes da margem esquerda podemos citar: Marituba, Traipu,
Ipanema, Capi e Moxot; a maior parte dos afluentes tanto da margem esquerda
quanto direita so temporrios.
Litoral: vrias lagoas formam-se prximo a desembocadura dos rios, algumas mais
importantes como a Manguaba (maior do estado), Munda, Rateio, Jequi e Poxim.
Clima
Caracteriza-se por apresentar clima quente e mido na maior parte do estado, com
temperaturas na faixa dos 24 graus C. A poca em que as chuvas so mais
freqentes e abundantes ocorre durante o outono-inverno, atingindo ndices
superiores a 1.400mm/ano.
Na poro oeste os ventos midos vindos de sudeste so retidos pelas serras, o que
vem a provocar chuvas, atenuando desta maneira o clima semi-rido. O ndice
pluviomtrico nesta regio menor que na maioria do estado, 1.000mm/ano.
Vegetao
Trs tipologias vegetacionais podem ser encontradas no estado de Alagoas.
Floresta tropical: ocorre na baixada litornea e na encosta da Borborema;
composta por mata de rvores frondosas.
Agreste: situa-se na parte central do estado, entre as reas de clima mido e mais
seco; formada por vegetao de transio - espcies da floresta tropical e da
caatinga.
Caatinga: observada a oeste do territrio; cactos, rvores de pequeno porte e
arbustos compem a paisagem.
Quatro regies naturais so identificadas devido a influncia dos fatores climticos,
de relevo e de vegetao.
Zona da Mata: abrange a baixada litornea, a encosta da Borborema e uma parte
do pediplano.
Agreste: rea central do estado
Serto: ocupa o centro-oeste alagoano
Baixo So Francisco: segue junto ao curso do rio So Francisco, prximo a cidade
de So Brs at sua foz.
442
ESTADODA BAHIA
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ba.html
Histria, Povoamentos e Colonizao
Podemos dizer que a Bahia foi o incio do incio. Em 1500 l aportaram os
portugueses; foi um dos principais plos receptores de escravos africanos; sediou a
primeira capital do Brasil Salvador (1549).
Sob forte influncia jesutica, iniciou-se em 1534 seu povoamento. Atacada por
holandeses no sculo XVIII, estes foram expulsos por portugueses e brasileiros
(filhos de europeus com indgenas) que l habitavam.
Durante um sculo aproximadamente, a Bahia detinha o ttulo de mais importante
porto martimo do hemisfrio sul movimentando o comrcio da Europa, sia e frica.
A colonizao do interior desenvolvia-se graas criao de gado, o plantio da cana
e o fabrico do acar.
A Conjurao Baiana em 1798, inspirada em outras revolues, apresentava
propostas como: independncia, igualdade racial, fim da escravido e liberdade
comercial entre os povos. Contou-se com a participao de escravos, negros libertos
e pequenos artesos. Delatado e reprimido, alguns dos integrantes do movimento
foram condenados morte e outros ao exlio. Acontecimento igualmente marcante
foi a Guerra de Canudos em 1897.
Leia Tambm: Smbolos da Bahia
Localizao e rea Territorial
Apresentando 1.000 km de praias, portanto a mais
extensa faixa litornea do Brasil, o estado da Bahia
est localizado na poro sul da regio nordeste
brasileira.
Limita-se:
Norte: Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Piau
Leste: Oceano Atlntico
Sul: Minas Gerais e Esprito Santo
Oeste: Gois e Tocantins
rea total: 567.295,3 km distribuda pelos 417 municpios baianos.
Apresenta uma populao de 13.066.764 habitantes, estimada pelo IBGE atravs do
Censo 2000. Salvador, Feira de Santana, Ilhus, Vitria da Conquista, Itabuna,
Jequi, Juazeiro, Camaari, Alagoinhas e Barreiras so as cidades mais populosas.
443
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ba1.html
444
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rba.html
445
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hba.html
446
Imagem de Satlite
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/iba.html
447
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ba2.html
Governo
Governador: Paulo Ganem Souto
Vice-governador: Eraldo Tinoco Melo
Secretaria da Administrao - SAEB
Marcelo Pereira Fernandes de Barros (secretrio)
Avenida 2, 200
CEP: 41.745-003
Fone: (0xx71) 3115-1775 / 3176
Fax: (0xx71) 3115-3345
Site: www.saeb.ba.gov.br
Secretaria de Agricultura, Irrigao e Reforma Agrria - SEAGRI
Pedro Barbosa de Deus (secretrio)
Avenida 4, 405
CEP: 41.745-002
Fone: (0xx71) 3115- 2825 / 2824
Fax: (0xx71) 3115-2829
Site: www.seagri.ba.gov.br
Secretaria de Combate Pobreza e s Desigualdades Sociais - SECOMP
Pe. Clodoveo Piazza (secretrio)
Avenida 3, 390 - Plataforma IV, Ala Norte 1o. Andar
CEP: 41.745-005
Fone: (0xx71) 3115-6577
Fax: (0xx71) 3115-6198
Secretaria da Cultura e Turismo - SCT
Paulo Renato Dantas Gaudenzi (secretrio)
Av. Tancredo Neves, 776 - Ed. Desenbanco
CEP: 41.820-020
Fone: (0xx71) 341-1208 / 2411
Fax: (0xx71) 340-5793
E-mail: sct.secretario@bahia.ba.gov.br
Site: www.sct.ba.gov.br
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Paulo Moussallem de Andrade (secretrio)
Avenida Tancredo Neves, 450 - 34 Andar
CEP: 41.820-020
Fone: (0xx71) 273-5100
Fax: (0xx71) 273-5105
Site: www.sedur.ba.gov.br
Secretaria da Educao - SEC
Ananci Bispo Paim (secretria)
448
Avenida 6, 600 - 3o. Andar
CEP: 41.750-300
Fone: (0xx71) 3115-9042 / 9043
Fax: (0xx71) 3115-9040
E-mail: secretario@sec.ba.gov.br
Site: www.sec.ba.gov.br
Secretaria Extraordinria para Assuntos de Cincia, Tecnologia e Inovao
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti (secretrio)
Av. Tancredo Neves, 450 - 23 Andar - Salas 2301 / 2302
CEP: 41820-020
Fone: (0xx71) 273-5810 / 5812
Fax: (0xx71) 273-5803
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Albrico Machado Mascarenhas (secretrio)
Avenida 2, 260
CEP: 41.745-003
Fone: (0xx71) 3115-2694 / 2430
Fax: (0xx71) 3115-8802
Site: www.sefaz.ba.gov.br
Secretaria de Governo - SEGOV
Ruy Santos Tourinho (secretrio)
Avenida 3, 390
CEP: 41.745-005
Fone: (0xx71) 3115-6506 / 6507
Fax: (0xx71) 371-0617
E-mail: segov.secretario@bahia.ba.gov.br
Secretaria da Indstria, Comrcio e Minerao
Otto Roberto Mendona de Alencar (secretrio)
Avenida 4, 415
CEP: 41.745-002
Fone: (0xx71) 371-9962 / 7801
Fax: (0xx71) 3115-7939
E-mail: sicm.secretario@bahia.ba.gov.br
Secretaria de Infra-estrutura
Eraldo Tinoco Melo (secretrio)
Avenida 4, 440
CEP: 41.745-002
Fone: (0xx71) 3115-2282 / 2285
Fax: (0xx71) 371-7488
E-mail: gasec@seinfra.ba.gov.br
Site: www.seinfra.ba.gov.br
Secretaria da Justia e Direitos Humanos - SJDH
Srgio Sanches Ferreira (secretrio)
Avenida 4, 400
CEP: 41.745-002
Fone: (0xx71) 3115-8300 / 4144
449
Fax: (0xx71) 3115-8398
E-mail: secretario@sjdh.ba.gov.br
Site: www.sjdh.ba.gov.br
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hdricos
Jorge Khoury Hedaye (secretrio)
Avenida 3, 390
CEP: 41745-005
Fone: (0xx71) 3115-6301 / 6272
Fax: (0xx71) 3115-3808
Secretaria do Planejamento - SEPLANTEC
Armando Avena Filho (secretrio)
Avenida 2, 250
CEP: 41.745-003
Fone: (0xx71) 3115-3944
Fax: (0xx71) 3115-3945
E-mail: gasec@seplan.ba.gov.br
Site: www.seplan.ba.gov.br
Secretaria da Sade - SESAB
Jos Antonio Rodrigues Alves (secretrio)
Avenida 4, 400 - Plataforma 6 - Lado B
CEP: 41.745-002
Fone: (0xx71) 371-0384 / 9303
Fax: (0xx71) 371-3237
Site: www.saude.ba.gov.br
Secretaria da Segurana Pblica - SSP
Edson S Rocha (secretrio)
Avenida 4, 430
CEP: 41.745-002
Fone: (0xx71) 3115-1914 / 1911
Fax: (0xx71) 3115-1823
Site: ssp.ba.gov.br
Secretaria de Trabalho e Ao Social
Eduardo Oliveira Santos (secretrio)
Avenida 2, 200
CEP: 41.745-003
Fone: (0xx71) 3115-3396
Fax: (0xx71) 3115-3394
E-mail: setras@setras.ba.gov.br
Site: www.setras.ba.gov.br
450
rgos Ambientais
Superintendncia de Polticas Ambientais - SPA
Centro Administrativo da Bahia, 3 Avenida, 390 - 4 Andar
CEP: 41.746-900
Salvador - BA
Superintendncia de Desenvolvimento Florestal e Unidades de Conservao -
SFC
Centro Administrativo da Bahia, 3 Avenida, 390 - 4 Andar
CEP: 41.746-900
Salvador - BA
Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB
Centro Administrativo da Bahia, 3 Avenida, 300
CEP: 41.750-300
Salvador - BA
Superintendncia de Recursos Hdricos - SRH
Avenida ACM, 357 - Itaigara
CEP: 41.825-000
Salvador - BA
Parque Zoobotnico Getlio Vargas
Rua Adhemar de Barros, s/n - Alto de Ondina
CEP: 40.170-110
Salvador - BA
Centro de Recursos Ambientais - CRA
Rua Rio So Francisco, 01 - Monte Serrat
CEP: 40.425-060
Salvador - BA
Legislao Ambiental Estadual
Lei 6.569, de 17/01/1994
Lei 6.455, de 25/01/1993
Lei 6.295, de 21/03/1997
Decreto 7.396, de 08/04/1998
Decreto 6.785, de 23/09/1997
Decreto 88.218, de 04/06/1983
Outorga de guas
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ba_aguas.html
A outorga de direito de uso dos recursos hdricos de domnio do Estado da Bahia o
instituto jurdico, mediante contrato ou ato unilateral da Administrao,
imprescindvel para a regularidade e a legalidade quanto ao uso de recursos
hdricos, quando houver implantao, ampliao e alterao de qualquer
empreendimento que demande uso de gua superior a 43.200 litros por dia (0,5 l/s),
451
superficial ou subterrnea, bem como a execuo de obras ou servios que alterem
seu regime, quantidade ou qualidade.
As duas modalidades de outorga previstas so a concesso, nos casos de
utilizao dos recursos hdricos para fins de utilidade pblica, e a autorizao, nos
demais casos.
A concesso de uso o contrato administrativo pelo qual o poder pblico atribui a
utilizao exclusiva de um bem de seu domnio ao usurio, para que o explore,
segundo sua destinao especfica.
A autorizao de uso de recursos hdricos consiste em ato unilateral pelo qual o
poder pblico outorga o direito ao uso desses recursos para fins no caracterizados
como de utilidade pblica, e por um prazo mximo de 4 anos, renovvel por mais
dois perodos iguais.
Obrigao
O Estado da Bahia, atravs da Lei n 6.855, fixou prioridades quanto outorga do
direito de uso da gua segundo a finalidade da derivao, observada a ordem a
seguir:
Abastecimento humano e animal;
Irrigao;
Abastecimento agroindustrial;
Abastecimento industria;
Aquacultura;
Minerao;
Lanamento de efluentes;
Outros usos no discriminados.
Esta seqncia pode, no entanto, ser alterada ou ajustada s peculiaridades de cada
bacia. No caso de escassez de gua, haver racionamento de seu uso,
considerando, preferencialmente, os seguintes:
O abastecimento humano e animal;
Os usos que comprovarem menor consumo unitrio de gua;
Usos com maior benefcio social.
Portanto, os usos que comprovarem tais caractersticas tero prioridade a continuar
com a explorao da gua. Alm disso, nenhum usurio, individualmente, receber
autorizao acima de vinte por cento (20%) da vazo de referncia de um dado
manancial.
Para o lanamento de efluentes e resduos lquidos, os critrios e condies sero
fixados em conformidade com a legislao ambiental.
Documentao
- Fotocpia autenticada da escritura pblica registrada no Cartrio de Registro de
Imveis ou Certido de Registro do Imvel.
452
- Anuncia formalizada por instrumento pblico, ou carta com firma reconhecida, do
titular do imvel para terceiros ou arrendatrios.
- Quando a solicitao for feita por representante do titular do imvel, procurao
com firma reconhecida.
- Nos casos de pessoa jurdica, fotocpia autenticada do contrato social ou estatuto.
Nos casos de renovao, encaminhar ofcio especfico a SRH, fazendo
referncia ao nmero do processo e portaria publicada.
Documentos tcnicos
- Mapa de localizao do imvel, extrado da folha topogrfica a ele correspondente,
fazendo constar as coordenadas geogrficas do (s) ponto (s) de captao. A
utilizao de GPS para fornecer a informao mais precisa possvel ser
fundamental para a exatido da situao do imvel.
- Projeto executivo do empreendimento, incluindo plantas, mapas, grficos, bacos,
tabelas, quadros, demonstrativos e memoriais de clculo, subscrito por tcnico ou
empresa, habilitado na forma da lei.
- No caso de barramento, estudo hidrolgico acompanhado da ART (Anotao de
Responsabilidade Tcnica) expedida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura), bem como o estudo da capacidade de regularizao.
Local
O pedido poder ser feito na sede da SRH em Salvador, ou no escritrio da
representao da SRH na regio administrativa das guas (RAA), onde se situa o
empreendimento.
A Lei n. 6.855 de 1.995, art. 8, tendo como finalidade a descentralizao do
gerenciamento dos recursos hdricos estaduais, criou as dez Regies
Administrativas da gua (RAA).
Esto listadas a seguir com suas respectivas sedes:
RAA Sede
1. Extremo Sul (todas as bacias hidrogrficas do extremo sul do
Estado, abaixo da bacia do Rio das Contas)
Eunpolis
2. Rio das Contas (bacia do Rio das Contas, alm das bacias
hidrogrficas do recncavo sul baiano)
Jequi
3. Rio Paraguau e Grande Salvador (bacias do Rio Paraguau,
recncavo norte e do Rio Inhambupe)
Itaberaba
4. Rios Vaza-Barris, Itapicuru e Real
Senhor do
Bonfim
5. Sub-mdio So Francisco (bacia do Rio Salitre e demais
cursos dgua da margem direita do Rio So Francisco,
jusante da barragem de Sobradinho)
Juazeiro
453
6. Margem Direita do Lago de Sobradinho (as sub-bacias do
trecho baiano do Rio So Francisco entre as bacias dos Rios
Paramirim, Salitre e Paraguau
Irec
7. Margem Esquerda do Lago de Sobradinho (as sub-bacias do
trecho baiano do Rio So Francisco entre a bacia do Rio
Grande e Juazeiro)
Remanso
8. Rios Paramirim, Santo Onofre e Carnaba de Dentro
(afluentes da margem direita do Rio So Francisco, entre a
divisa com Minas Gerais e divisores dgua das bacias dos Rios
Verde, Jacar e das Contas)
Guanambi
9. Rio Grande (limitada ao norte pelo Piau, ao sul pela bacia do
Rio Corrente, a leste pelo Rio So Francisco e a oeste pelos
Estados de Tocantins e Gois)
Barreiras
10. Rio Corrente (limitada ao norte pela bacia do Rio Grande, ao
sul pelo Estado de Minas Gerais, a leste pelo Rio So Francisco
e a oeste pelo Estado de Gois)
Santa Maria da
Vitria
Tramitao
O processo de pleito de outorga de direito de uso da gua tramita na
Superintendncia de Recursos Hdricos (SRH). Em sua fase final, o processo de
pleito de outorga poder ter dois tipos de despacho:
- Sendo favorvel o parecer, jurdica e tecnicamente, o interessado ser notificado a
pagar as despesas do processo de outorga, correspondentes finalidade do uso.
Aps paga as despesas, o diretor geral da SRH assinar a portaria e enviar ao
Dirio Oficial do Estado , para publicao.
- Sendo desfavorvel o parecer, a SRH, por ofcio, notificar o interessado do
resultado da anlise tcnico-jurdico
Fonte: Superintendncia de Recursos Hdricos - Governo da Bahia
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ba3.html
Meio Ambiente e Recursos Hdricos: Uma nova secretaria no governo baiano
Com o desafio de formular e executar a poltica estadual de ordenamento ambiental,
desenvolvimento florestal e recursos hdricos, a Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hdricos (Semarh) encerra seu primeiro ano de implantada realizando uma
srie de aes em defesa, e para uma gesto mais eficiente, dos recursos naturais.
A Semarh formada por dois conselhos, o Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM) e
o de Recursos Hdricos (CRH) rgos de administrao direta, as superintendncias
de Polticas Ambientais (SPA) e a de Desenvolvimento Florestal e Unidades de
454
Conservao (SFC), e pelas duas autarquias CRA (Centro de Recursos Ambientais),
SRH (Superintendncia de Recursos Hdricos) e uma empresa, a Cerb (Companhia
de Engenharia Rural da Bahia) oriundas de diversas secretarias. Ainda integra a
estrutura da Semarh, o Jardim Zoobotnico de Salvador.
Alm de aes individuais a Semarh tornou-se parceira de outras secretarias na
execuo de programas conjuntos, como o Viver Melhor Rural, da Seplan, e o Cabra
Forte, Terra Frtil e Tucano, todos da Seagri.
A implantao desta secretaria demonstra a preocupao do Governo da Bahia em
fortalecer a poltica estadual de meio ambiente e promover o bem-estar da
populao, alm de representar um avano no setor, que nestas ltimas dcadas
tornou-se fator de preocupao mundial.
Uma das riquezas naturais mais importantes para o estado e para o pas, o Rio So
Francisco (CBH-SF), recebeu, a partir deste ano, ateno especial por parte do
governo federal e dos estados cortados pelo rio. Em 2002, o governo federal instituiu
o Comit da Bacia Hidrogrfica do So Francisco e cmaras consultivas estaduais
na Bahia foram quatro - grupos formados por representantes da sociedade civil
organizada, ongs e pelos poderes pblicos (federal, estaduais e municipais) das sete
unidades federativas que formam a Bacia do So Francisco.
Atravs das reunies das cmaras consultivas, o comit identificou os principais
problemas e demandas de cada regio que compe a bacia e apresentou em forma
de documento ao governo federal, que, sob a coordenao do vice-presidente da
Repblica, Jos Alencar, estuda projeto de recuperao e transposio do rio.
No incio do ano, durante a primeira plenria do CBH-SF, os secretrios de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel de Minas Gerais, Jos Carlos Carvalho, e
o de Meio Ambiente e Recursos Hdricos da Bahia, Jorge Khoury, foram eleitos,
respectivamente, presidente e vice-presidente do comit. Ainda foi eleito como
secretrio executivo do comit, o professor da Universidade Federal de Sergipe, Luis
Carlos Fontes. Abaixo, as aes iniciadas pela Semarh durante o ano de 2003.
Este foi um ano de ajustes para a Secretaria e os novos rgos que a compem,
mas nos firmamos como uma instituio com aes diferentes, no voltadas
somente para a execuo de obras, mas tambm para a formao de cidados mais
esclarecidos com relao importncia da preservao e convvio com o meio
ambiente, resume Jorge Khoury. O secretrio destacou ainda a boa convivncia
com o governo federal, atravs do Ministrio do Meio Ambiente e do Ibama-BA, em
diversas aes. Uma delas foi a realizao da Pr-Conferncia Estadual de Meio
Ambiente, na qual a Bahia obteve destaque nacional realizando a maior reunio do
pas com mais de 2,8 mil pessoas .
SPA
Atuando em parceria com outras secretarias e rgos ambientais de forma
permanente, a Superintendncia de Polticas Ambientais deu incio a importantes
projetos. Um dos mais relevantes foi o incio das atividades para a simplificao do
Sistema Estadual de Meio Ambiente, que tem como objetivo integrar e harmonizar
as legislaes ambiental, de recursos hdricos e florestal.
455
O Grupo de Trabalho formado por cerca de 500 pessoas representantes de diversos
setores da sociedade agricultura, minerao, turismo, sade, comrcio/servios,
entidades ambientalistas, de ensino e pesquisa, setor florestal, pessoas fsicas de
interesse na gesto ambiental, entre outros iniciou a elaborao da minuta
referente ao assunto em maio. Atualmente, o documento, j concludo, est em fase
de apreciao pelos integrantes do grupo para os ajustes finais, antes de ser
enviado para votao na Assemblia Legislativa.
Se conseguirmos fazer a adequao das trs leis ambientais do estado, estaremos
realizando uma ao pioneira no pas, lembra Maria Gravina, diretora de Integrao
das Aes Ambientais da SPA/Semarh. A diretoria chefiada por Gravina foi criada
especialmente para promover esta modernizao da legislao no estado.
Outra ao de grande importncia da Semarh foi a parceria com a Ong Instituto
Ecolgica que resultou na criao do Ncleo de Apoio a Projetos de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, uma atitude ousada e pioneira da Bahia, o primeiro estado
brasileiro a contar com um escritrio para este fim. O escritrio de MDL tem como
objetivo orientar e dar suporte tcnico ao empresariado no desenvolvimento e
implantao de projetos de mecanismos limpos que visam o seqestro de
carbono(CO), uma iniciativa recomendada pelo Protocolo de Kyoto e que demonstra
que, apesar de nova, a Semarh est atenta s aes para um meio ambiente mais
saudvel.
Educao ambiental - Outra forte atuao da SPA/Semarh foi na rea de educao
ambiental, com a criao, em novembro passado, da Comisso Interinstitucional de
Educao Ambiental do Estado da Bahia que tem como incumbncia definir polticas
pblicas que incorporem a dimenso da educao ambiental, envolvam todos os
segmentos da sociedade do estado e promovam a municipalizao da gesto
ambiental.
Formada por representantes do poder pblico municipal, estadual e federal,
sociedade civil organizada, universidades, ongs ambientais, comunidades
tradicionais, como os ndios, Ministrio pblico e setor produtivo, a comisso tem
como meta construir um programa estadual de educao ambiental, alm de integrar
a rede brasileira de educao ambiental, coordenada pelo Ministrio do Meio
Ambiente.
Programa de Recuperao Ambiental de Mananciais Desenvolvido em parceria
com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), este programa voltado para a
Regio Metropolitana de Salvador beneficiar 3,2 milhes de habitantes. Prev
aes capazes de evitar novas agresses aos mananciais dos rios que cortam a
regio da Grande Salvador e recuperar a qualidade da gua e do ecossistema
envolvido, atravs da realizao de obras de melhorias habitacionais, saneamento
bsico e educao ambiental. Os mananciais beneficiados nesta primeira etapa, em
execuo, so; Pedra do Cavalo (Cachoeira), Santa Helena(Rio Jacupe), Rio
Joanes I e II e lagos do Rio Pituau (Salvador) e Rio Pojuca.
Projeto de Desenvolvimento Integrado e Sustentvel do Entorno do Lago do
Sobradinho - Coordenado pela Semarh, este projeto estadual constitui um modelo
de interveno para a implementao de aes direcionadas ao atendimento das
demandas sociais, ambientais, econmicas e culturais da regio do Sobradinho,
456
formada pelos municpios de Remanso, Casa Nova, Sento S, Pilo Arcado e
Sobradinho.
SFC
Com um forte trabalho para a recuperao da vegetao tpica do Estado, a Semarh,
atravs da Superintendncia de Desenvolvimento Florestal e Unidades de
Conservao, plantou em 2003 cerca de trs milhes e oitocentos mil mudas de
plantas em diversas regies do Estado. Na regio cacaueira, foram plantadas 600
mil mudas de espcies nativas e frutferas para a Mata Atlntica.
Um milho e cem mil mudas de espcies nativas, frutferas e exticas tambm foram
plantadas na regio compreendida entre os municpios de Caetit e Formoso do Rio
Preto, na bacia do So Francisco.
J um convnio firmado com o Sindicato das Indstrias de Ferro de Minas
Gerais(Sindiferro) possibilitou a recomposio da rea verde dos municpios do
Sudoeste que fazem divisa com o estado mineiro. Na regio, as empresas de ferro
produzem carvo, ao que vinha degradando o meio ambiente e que, a partir desse
ano, comeou a ser recuperado.
Ainda com o Sindiferro, a Semarh inaugurou dois viveiros para a produo de mudas
de espcies nativas, exticas e frutferas que permitiro a recomposio das reas
verdes no interior. Para o desenvolvimento deste projeto, a secretaria contou
tambm com a participao da Uesb e da Prefeitura Municipal de Riacho de
Santana, onde foram instalados os dois viveiros. Cada viveiro tem capacidade para
produzir 300 mil mudas por ano que sero distribudas para plantio em todo o
Estado.
Tambm atravs de convnio, desta vez com a Secretaria da Indstria, Comrcio e
Minerao (SICM) e a Universidade do Sudoeste Baiana (Uesb), a Semarh plantou
750 mil mudas de eucalipto na regio sudoeste. Os eucaliptos serviro para a
produo de macios florestais de biomassa energtica para atender a demanda da
indstria ceramista, que bastante atuante e gera um grande nmero de empregos
na regio.
Jardim Zoobotnico
Dois mil e trs, foi um ano de transio no Jardim Zoobotnico de Salvador. A
Semarh iniciou um projeto de revitalizao do zo e implementou diversas melhorias
na rea. A sinalizao no interior do jardim foi intensificada e agora apresenta ao
pblico informaes mais detalhadas sobre as trilhas e os animais. Com 750 animais
em apresentao, o Jardim Zoobotnico Getlio Vargas tambm teve os recintos
dos bichos reformados, em que, alm da infra-estrutura, levou-se em conta a
necessidade de adotar um projeto paisagstico mais adequado.
O museu do zo tambm foi incrementado com a chegada de novos animais
empalhados e esqueletos. Um deles, o esqueleto de uma baleia jubarte, foi doado
por uma ong capixaba. O museu conta com exemplares empalhados de cobras,
tamandu, ona, arars, mico-leo da-cara-dourada, tatu-bola, entre outros.
Este ano, tambm chegaram ao zo exemplares de avestruzes e nasceram crias de
espcies selvagens reproduzidas em cativeiro. Entre eles, o mico-leo-da-cara-
457
dourado, espcie endmica da Mata Atlntica da Bahia. Trinta e oito por cento dos
animais existentes aqui no zoo foram reproduzidos em cativeiro, esclarece Joo
Moreira, diretor do Jardim Zoobotnico.
Cerb
A Companhia de Engenharia Rural da Bahia conseguiu atingir suas metas
estipuladas para este ano, levando gua, atravs da perfurao de poos e da
construo e ampliao de sistemas de abastecimento de gua, alm da construo
de barragens, atendendo mais de 300 municpios baianos.
A empresa tem se destacado no atendimento s populaes carentes,
principalmente na regio do semi-rido, implementando novas tecnologias
alternativas como o uso do dessalinizadores e dos sistemas fotovoltaicos para
captao de energia solar.
Entre as obras realizadas destacam-se o sistema integrado de Paratinga, a
concluso do Projeto Tucano e a viabilizao de trs importantes barragens
Pindobau, Bandeira de Melo e Barroca do Faleiro. Em 2003, a Cerb perfurou 320
poos, construiu mais de 200 sistemas de abastecimento de gua, entre
convencionais e simplificados e assinou convnios com prefeituras e associaes de
150 municipios baianos para a ampliao de sistemas de abastecimento, mediante o
fornecimento de 600 mil metros de tubo.
O sistema integrado de Paratinga, uma das maiores obras realizadas pelo setor
pblico neste ano, foi entregue populao em setembro e est beneficiando cerca
de 1.200 habitantes das localidades de Alagoas, Alagoinhas, Alagadio, Espinheiro,
Tbua, Alecrim, Muniz, Caibro, Morro de Dentro, Muqum e Patos. A captao da
gua feita atravs de flutuante, no Rio So Francisco, onde foram instalados dois
conjuntos de motobombas com vazo de 19,9 litros por segundo.
O Tucano I um dos mais importantes projetos que vem sendo desenvolvidos na
regio da Bacia Sedimentar de Tucano, que atravessa toda regio nordeste da
Bahia, no sentido norte/sul, onde vive atualmente cerca de 13% da populao do
Estado. A gua subterrnea existente no local suficiente para garantir o
abastecimento de cerca de um milho de habitantes dos 46 municpios, que abrange
uma rea de 56 mil quilmetros quadrados.
A Cerb desenvolveu estudos com o objetivo de buscar uma soluo para os
municpios situados nessa regio, onde tem apresentado os piores indicadores
scio-econmicos, devido falta de gua, no s como elemento de subsistncia,
mas tambm como fator de desenvolvimento de produo. O Programa de
Aproveitamento Integrado dos Recursos Hdricos da Bacia Sedimentar de Tucano
vai atender inicialmente os municpios de Quinjingue, Cansano e Nordestina e 27
localidades.
Segundo o presidente da Cerb, Pedro Avelino, o projeto desenvolvido pela empresa,
sem dvida, o ponto de partida para mudar o quadro de sofrimento que a seca
causa nos municpios que compreendem a Bacia de Tucano e adjacncias. A
implantao de um plano de aproveitamento da gua vai contribuir de forma decisiva
para o desenvolvimento scio-econmico da populao que vive no Polgono da
Seca.
458
Barragens Em julho, a empresa deu incio s obras da Barragem de Pindobau. O
empreendimento destina-se a resolver, de forma definitiva, o abastecimento das
sedes municipais de Pindobau., Sade e Caem e, sobretudo, propiciar o reforo
para solucionar a demanda da cidade de Jacobina quando ento atender 70 mil
pessoas. Parte da vazo regularizada, de aproximadamente mil litros por segundo,
ser utilizada para irrigao de cerca de mil hectares.
A Barragem de Pindobau dever regular o volume de gua reservado pela
Barragem de Ponto Novo, j implantada e situada nas proximidades. Desta forma,
as duas barragens, situadas na Bacia do Rio Itapicuru-Au, permitiro a
regularizao da vazo deste importante rio at a Cidade de Queimadas, tornando-o
neste trecho, perene. A Barragem de Pindobau est sendo construda em concreto
rolado, permitir o acmulo de cerca de 20 milhes metros cbicos de gua .
No dia 12 deste ms, o governador Paulo Souto, estar autorizando a construo da
Barragem Bandeira de Melo, no Rio Paraguau, que dever beneficiar cerca de 95
mil pessoas que vivem nas sedes municipais de Itaet, Boa Vista do Tupim,
Marcionlio Souza, Iau, SIAA Itaberaba- Rui Barbosa, Ipir, entre outras. Os
trabalhos de escolha do local foram desenvolvidos pela Cerb, conforme diretrizes
estabelecidas no Plano Diretor de Recursos Hdricos do Mdio e Baixo Paraguau.
A barragem, aps sua concluso dever regularizar uma vazo de 21,74 m3 por
segundo e o seu lago armazenar um volume de cerca de 111,59 milhes de metros
cbicos de gua de excelente qualidade. Segundo informaes da Bahia Pesca,
estima-se que o reservatrio da bandeira de Melo pode gerar uma produo
aproximada de 100 kg/ha/ano, totalizando 200 toneladas de peixe por ano. A
regularizao das vazes no trecho mdio do Rio Paraguau possibilitar a irrigao
de 19 mil hectares de terras frteis, abrangendo os permetros de Canta-Galo,
Canabrava, Piranhas, Caldeiro, Flamengo e Argoim.
Outro dado relevante, levantado pelos estudos executados pela Cerb, o custo do
metro cbico da gua regularizada pelo barramento, que dever ser um dos mais
baixos, se comparado com outros estudos de empreendimentos similares j
executados pela empresa. O tipo de estrutura , preliminarmente concebida, de um
barramento misto, de terra e concreto compactado com rolo, com altura de 14
metros e extenso de 780 metros.
Tecnologias alternativas - A empresa tambm vem intensificando a implantao de
dessalinizadores em poos tubulares que apresentam gua com alto teor de
salinidade, imprpria para o consumo humano. Vinte sistemas de abastecimento de
gua receberam equipamentos e hoje a populao tem gua em quantidade e de
excelente qualidade. A gua um bem natural e escasso no semi-rido. Essa
assertiva est relacionada baixa pluviosidade e a estrutura geolgica que no
permite acumulao satisfatria de gua no subsolo.
O Nordeste est condicionado seca. um fenmeno climtico inevitvel. Quando
explorada, a gua apresenta, na maioria das vezes, salinidade elevada. Uma das
solues mais utilizadas so os dessalinizadores. A Bahia o estado com o maior
nmero de aparelhos implantados no Pas e a Cerb pioneira no Nordeste na
instalao desses equipamentos. A implantao dessa tecnologia alternativa no
semi-rido baiano significa hoje benefcio ao homem do campo como uma das
solues definitivas.
459
Os equipamentos que vm sendo implantados na zona rural tm capacidade em
mdia de 25 metros cbicos de gua por hora. O uso desses equipamentos muito
comum em pases como Estados Unidos, Israel, Arbia Saudita, Canad, onde
feita a dessalinizao da gua do mar para abastecer metrpoles, alm de ser
utilizada na agricultura em larga escala.
A Cerb, h dez anos, foi a primeira entre as empresas estatais na Bahia a utilizar a
energia solar como tecnologia para captao e distribuio de gua atravs de
sistemas simplificados em comunidades rurais carentes do semi-rido baiano. A
experincia piloto foi desenvolvida na comunidade de Pau DArco, municpio de
Itanagra, regio de Catu, onde o primeiro poo foi instalado. Intensificado a partir do
ano de 1996, hoje a Cerb j conta com 227 sistemas, beneficiando comunidades
rurais em mais de 190 municpios nas regies de Irec, Juazeiro, Caetit, Seabra,
Barreiras, Santa Maria, Vitria da Conquista, Senhor do Bonfim, Ribeira do Pombal e
Feira de Santana.
A energia solar limpa, no polui, no produz rudo e um sistema inteligente:
acionado com os primeiros raios de sol, desligando automaticamente quando ele se
pe. Isto evita o desperdcio, j que o bombeamento de gua s acontece durante o
dia. Os sistemas instalados produzem em torno de 8a 10 mil litros de gua por dia,
beneficiando localidades com at 200 habitantes. A tecnologia mais utilizada nas
comunidades carentes da zona rural, onde difcil o acesso gua potvel e onde a
manuteno dos motores a diesel apresenta custo-benefcio bastante elevado. Alm
de no poluir e no produzir rudos, a energia solar no possui substncias txicas
ou nocivas ao meio ambiente.
SRH
A Semarh, atravs da Superintendncia de Recursos Hdricos, SRH, desenvolveu e
implantou, em 2003, projetos com a finalidade de amenizar os problemas causados
pela escassez de gua na Bahia. A regio mais atingida pela seca a do Semi-
rido, que ocupa dois teros do estado.
Para que, aos poucos, esses problemas venham sendo sanados, a Semarh/SRH
implantou, este ano, o Sistema de Informaes de Recursos Hdricos, SIRH.
Este sistema um importante instrumento que veio para viabilizar a gesto atravs
do suporte dado ao planejamento e controle das operaes de estruturas hdricas,
colaborando, assim, na fiscalizao do uso dos recursos hdricos na Bahia. A
viabilidade do SIRH aconteceu a partir da implantao do Banco de Dados de
Recursos Hdricos, BDRH, um banco de dados que alimentado, tambm, com
informaes hidrometeorolgicas. O BDRH conta com 208 estaes nas bacias dos
rios Itapicuru, Paraguau, Verde/Jacar, Contas, Paramirim, Vaza Barris, Grande e
Corrente.
A Rede Meteorolgica que funciona a partir do SIRH conta com 18 Plataformas de
Coletas de Dados PCDs. Essa rede encontra-se em processo de ampliao para
toda a Bahia e utiliza as PCDs como instrumento para a elaborao de boletins
dirios de previso do tempo e monitoramento de precipitaes. E a partir dessa
tecnologia implantada que est sendo estruturado o Boletim Agrometeorolgico da
Bahia.
460
Alm disso, foram estabelecidas pela Semarh/SRH a outorga e cobrana pelo direito
de uso da gua. Esse um mecanismo fundamental para o gerenciamento do setor
de recursos hdricos que permite ao estado controlar a quantidade de gua utilizada
e preservar o direito de seu uso. A Bahia considerada um dos estados brasileiros
que mais avanaram nos procedimentos para concesso de outorga, com efetivo
controle do balano e vazes outorgadas. Existe, para alocar os recursos financeiros
oriundos da cobrana, o Fundo Estadual de Recursos Hdricos FERBA.
At o momento, a SRH concedeu 3.244 outorgas a nove municpios. Pela bacia do
rio So Francisco, Barreiras obteve 467 outorgas, Santa Maria da Vitria teve 133,
Guanambi 70, Irec 928 e Juazeiro ficou com 26 outorgas. Senhor do Bonfim obteve
132 outorgas, pela bacia do rio Itapicuru; Itaberaba teve 764 outorgas concedidas,
pela bacia do rio Paraguau; Jequi, pelo Rio de Contas, totalizou 295 outorgas e
Eunpolis, pelos rios Pardo, Jequitinhonha, Itanhm e Mucuri, obteve 429.
Com a principal finalidade de ser o instrumento que planeja os recursos hdricos do
estado, foi criado o Plano Estadual de Recursos Hdricos, que funciona a partir da
anlise da atual situao do potencial hdrico analisando suas disponibilidades e
usos futuros para que o desenvolvimento regional baseado na utilizao da gua
seja assegurado.
Em parceira com o Banco Mundial, BIRD, a SRH implantou o Projeto de
Gerenciamento de Recursos Hdricos (PGRH), que permitir a Semarh adotar uma
poltica estadual de recursos hdricos que promova a descentralizao participativa
da gesto hdrica. Este um dos primeiros projetos brasileiros inteiramente voltados
para o gerenciamento dos recursos hdricos. Ao todo foram investidos US$ 85
milhes de dlares, sendo 40% investidos pelo governo do estado e 60% pelo BIRD.
O beneficio agregado a esse projeto atinge quase 2 milhes de pessoas atravs do
fortalecimento e da estruturao do estado para uma gesto integrada da utilizao
da gua.
Para viabilizar a descentralizao da gesto hdrica baiana e promover a criao de
diversos organismos de bacias, foram criadas dez Regies Administrativas da gua
RAAs. O PGRH possibilitou, tambm, a criao de quatro associaes de Usurios
da gua ao redor da Barragem de Ponto Novo, 26 comisses de Usurios da gua
COMUAs e do Consrcio Intermunicipal de Usurios da gua do Alto e Mdio
Itapicuru.
Os componentes que estruturam o Projeto de Gerenciamento de Recursos Hdricos
so: o Sistema de Ponto Novo, o Projeto Tucano, a Recuperao, Operao e
Manuteno de Barragens e a Construo de Barragens. O Sistema Ponto Novo
composto de uma barragem, um sistema de abastecimento de gua e um projeto de
irrigao com eletrificao. So 120 mil habitantes beneficiados na Bacia do
Itapicuru, atravs de uma maior oferta de gua e da regularizao do abastecimento
na regio, formada pelos municpios de Ponto Novo, Caldeiro Grande, Filadlfia,
Itiba, Senhor do Bonfim, Pindobau, Queimadas e Sade.
Manfredo Cardoso, superintendente de Recursos Hdricos, destacou que a
construo da barragem do Sistema de Ponto Novo gerou um projeto de
reassentamento considerado pelo Banco Mundial referncia no Brasil. A barragem
propiciou a garantia do sustento de 83 famlias que passaram a produzir alimentos
com a agricultura irrigada, afirmou ele.
461
O Projeto de Irrigao Ponto Novo abrange 2.605 hectares, com 62 lotes
empresariais de 20 a 50 hectares, e 141 lotes adicionais, de cinco hectares cada,
destinados a famlias selecionadas para a segunda etapa do reassentamento.
Para 2004, sero concludas as obras do sistema de abastecimento integrado de
Ponto Novo, Caldeiro Grande, Filadlfia e de mais 19 localidades. Tambm est
prevista a entrega do Sistema de energizao que ir suprir o permetro irrigado de
Ponto Novo.
Na regio de Tucano, o Projeto Tucano permitiu a utilizao da gua subterrnea no
abastecimento das zonas urbanas e rurais dos municpios de Nordestina,
Cansano, Quinjingue e de mais 30 outras localidades, o que favoreceu uma das
regies mais carentes do estado. O projeto refora, tambm, o abastecimento de
gua em Euclides da Cunha, beneficiando cerca de 27 mil pessoas.
Barragens - Responsvel pela operao e manuteno das barragens de usos
mltiplos do estado desde 2002, a SRH iniciou estudos e deu incio elaborao de
manuais de procedimento para aperfeioar o trabalho. E j sob essas normas, sero
administradas as barragens que tiveram obras iniciadas em 2003: as de Pindobau,
no municpio de Pindobau, e de Bandeira de Melo, em Itaet.
A SRH tambm iniciou projetos e estudos de viabilidade e ambientais, realizados
nas barragens de Integral, Pedra Branca, Cristalndia e Barnas, nas bacias
hidrogrficas dos rios Paraguau e de Contas. Tambm este ano, ficou definido que
a ampliao da usina hidreltrica da Barragem de Pedra do Cavalo ser realizada
sob a superviso direta da SRH.
Para promover a educao ambiental, est sendo realizado o Programa de
Educao Ambiental e Comunicao Social PEACS da Regio Alta e Mdia da
Bacia Hidrogrfica do rio Itapicuru Au e o PEACS da Regio Alta e Mdia da
Bacia Hidrogrfica do rio Paraguau.
Realizado em parceira com o Governo Federal, o Programa de Desenvolvimento dos
Recursos Hdricos (PDRH) um subprograma que funciona atravs do Programa
Brasil em Ao na busca do fortalecimento e estruturao da gesto de recursos
hdricos no Brasil. Ele atua tanto nas bacias de domnio da Unio, quanto nas de
domnio dos estados.
Na Bahia, o PDRH atuou, este ano, dando continuidade elaborao dos estudos
de viabilidade e aos projetos executivos do Sistema de Abastecimento de gua
SAA - de Tanhau e de Caetit e Santana.
Outra importante obra que est em andamento a terceira etapa da ampliao da
Adutora do Feijo com captao na barragem de Mirors. A concluso da adutora
beneficiar cerca de 55 mil pessoas.
Para o benefcio direto de 10,5 mil pessoas de 30 localidades dos municpios de
Souto Soares, Seabra, Itaquara, Canarana, e Ponto Novo, esto em fase de
implantao sete sistemas integrados de abastecimento de gua e de cinco
sistemas de abastecimento de gua de pequenas comunidades. Esses sistemas
consistem na captao, aduo, reserva e distribuio de gua para estas pequenas
comunidades rurais e tm prazo de concluso fixado em maro de 2004.
462
CRA
Em 3 de maro o rgo estadual de defesa e proteo do meio ambiente completou
20 anos de existncia. Alm da referncia histrica - marcada por diversas iniciativas
e eventos comemorativos - o CRA ampliou as suas aes e projetos voltados para o
aperfeioamento da gesto ambiental no estado da Bahia.
Alm disso, o CRA aperfeioou as suas atividades fins, de preservao ambiental,
com nfase na avaliao, licenciamento e fiscalizao das atividades com potencial
de impacto poluidor. E, principalmente, consolidou a atuao do Ncleo de Estudos
Avanados do Meio Ambiente (Neama), atravs de cursos - inclusive de ps-
graduao - seminrios e outros eventos voltados para o aumento da capacitao e
da especializao em meio ambiente para o seu prprio quadro tcnico e o de outras
instituies como prefeituras e universidades pblicas.
Atravs do Neama dez tcnicos do CRA tiveram em 2003 aprovadas as suas
dissertaes de mestrado em Desenvolvimento Sustentvel pela Universidade
Nacional de Braslia (UNB). Outros cursos de mestrado so realizados por tcnicos
do CRA, nas reas de Desenvolvimentos Sustentvel e Tecnologias Limpas, e
atualmente esto em fase de acumulao de crditos. Este ano o Neama iniciou um
curso de mestrado em Gesto Ambiental Municipal, destinado a funcionrios de 30
prefeituras interessadas em implantar a sua prpria poltica ambiental.
Tecnologia de Gesto Ambiental - Um dos destaques de 2003 foi a transferncia,
mediante convnio, para o Ministrio do Meio Ambiente (MMA) do sistema TG CRA
(Tecnologia de Gesto Ambiental). Trata-se de um conjunto moderno e articulado de
sistemas de informtica que possibilita o controle de todas as aes do rgo
ambiental nas reas de avaliao, licenciamento e fiscalizao de todas as
atividades e empreendimentos com potencial de impacto poluidor. O TG-CRA foi
desenvolvido pelo prprio CRA, que o patenteou junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual (INPI). Com o convnio o ministrio pode repassar
gratuitamente aos estados interessados o TG-CRA.
O sistema permite a qualquer empreendedor acompanhar on line, pela Internet, o
andamento de seu processo no rgo ambiental, como, por exemplo, o pedido de
licena ambiental. Oferece recursos como banco de dados, aplicativos para Intranet,
arquivos com backup dirio e e-mail, dinmico e constantemente recebe
intervenes corretivas e evolutivas. O conhecimento das aes e procedimentos do
rgo atualizado em tempo real e comporta os documentos relativos a
licenciamento de empresas, fiscalizao ambiental, autos de infrao, notificaes,
autorizaes e demandas judiciais e administrativas.
Aes - Uma das novas atribuies que o CRA passou a desempenhar em 2003 foi
o licenciamento e fiscalizao das atividades florestais na Bahia. As atividades
florestais que esto sujeitas ao licenciamento so: empreendimentos que consumem
matrias primas nativa ou plantada acima de 12 mil toneladas /ano de lenha ou oito
mil m3 de madeira, ou quatro mil m de carvo; realizao de queima controlada
utilizada para limpeza de rea de manejo agrosilvopastoril; a explorao de uma
determinada rea da propriedade situada sob a forma de Plano de Manejo Florestal.
Pela lei estadual 6.569, de 17 de janeiro de l994, toda propriedade dever manter
como reserva legal 20 por cento de sua rea.
463
Avaliao, Licenciamento e Fiscalizao - No desempenho de suas atividades
fins avaliao, licenciamento e fiscalizao das atividades com potencial de
impacto poluidor, o CRA apresentou os seguintes resultados: 361 inspees de
rotina; 92 atendimentos emergenciais; 227 notificaes; aplicao de 140 multas; 13
termos lavrados de apreenso; 16 operaes especiais de fiscalizao realizadas e
32 embargos, que inclui ainda demolies e interdies. No total foram aplicados
738 autos de infrao.
Foram encaminhados atravs do CRA ao Conselho Estadual de Meio Ambiente
(Cepram) 429 processos de licenciamento. O prprio CRA concedeu 908 licenas
simplificadas e 273 autorizaes para transporte de resduos perigosos. Na rea de
avaliao, foram realizadas 3.764 anlises, relativas a 710 coletas de amostras de
gua e sedimentos, para determinao da qualidade ambiental.
Fonte: ASCOM/SEMARH
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ba5.html
Devido sua proximidade com o Equador, o estado apresenta lugares paradisacos
com opes de passeios para todos os gostos. S de praias so mil quilmetros, o
conjunto arquitetnico da poca do descobrimento do Brasil, tombado como
patrimnio histrico, as montanhas, grutas, lagoas subterrneas, cachoeiras, mata
atlntica, o serto semi-rido com suas histrias, mitos e lendas, as lavouras de
cacau e o rio So Francisco fazem parte do roteiro turstico de quem visita a Bahia.
No importa que rumo o turista resolva seguir, sempre haver o que ver; roteiros
tursticos foram traados visando um melhor desenvolvimento e aproveitamento das
opes tursticas baianas.
Baa de Todos os Santos
Com 1.052 km a maior e mais bela reentrncia da costa brasileira, abrigando 56
ilhas; recebe guas de rios e riachos prximos, sendo a maior baa navegvel do
Brasil e propcia para a prtica de esportes nuticos.
Localidades: Candeias, Itaparica, Vera Cruz, So Francisco do Conde, Salinas da
Margarida, Jaguaripe e Madre de Deus.
Recncavo Baiano
Situado em torno da Baa de Todos os Santos est o Recncavo, o qual oferece
opes tursticas histricas, culturais e de lazer. A 110 quilmetros de Salvador, o
municpio de Cachoeira guarda belezas arquitetnicas e naturais tombadas pela
Unesco como Patrimnio da Humanidade.
Localidades: Cachoeira, Nazar, So Flix, Maragojipe, Santo Amaro e Saubara
464
Caminho das guas
Este circuito compreende o ponto mais profundo da Baa de Todos os Santos. A
partir de So Francisco do Conde encontram-se diversas ilhas como: de Frades,
Mar, Madre de Deus, Bimbarras, Vacas, Maria Guarda, Medo e outras menores;
seguindo pelo rio Paraguau chega-se as cidades de Maragojipe, Cachoeira e So
Flix. No entorno da ilha de Itaparica pode-se visitar as ilhas de Matarandiba, Cal,
Saraba e Carapeba, tambm outras localidades podem ser acessadas pelos
Caminhos das guas, a cidade histrica de Jaguaripe; Maragogipinho, centro
produtor de cermica; balnerio de Ituber, em Pratigi e outras mais, aqui no
citadas.
Costa do Dend
Plo turstico que abrange vrios municpios, sendo cercado de verde, guas
cristalinas, recifes de corais, fauna colorida e lugares que encantam como o Morro
de So Paulo com seu cenrio naturalmente tropical. Abriga tambm a terceira maior
baa do Brasil em Camamu.
Localidades: Valena, Camamu, Ituber, Nilo Peanha, Baa de Camamu, Morro de
So Paulo, Boipeba, Cairu, Igrapina, Mara e Tapero
Costa do Cacau (ecoturismo)
Localiza-se no litoral sul da Bahia, mais precisamente entre Itacar e Canavieiras.
Santurios ecolgicos, quilmetros de praias (algumas desertas), densos coqueirais
e vegetao variando desde mata atlntica nativa a reas de manguezal e fazendas
de cacau.
Muito se tm investido neste plo, voltado basicamente para o ecoturismo contando
com infra-estrutura para atender ao turista. So atrativos tursticos da Costa do
Cacau: cavalgada a beira-mar, passeio de barco pelo delta de Ilhus ou barra do rio
Pardo, Estncia Hidromineral de Olivena, Projeto de Preservao do Mico-leo de
Cara Dourada, areias monazticas de Canavieiras entre outros.
Localidades: Ilhus, Canavieiras, Una, Itacar, Santa Luzia e Uruuca
Costa do Descobrimento
Conhecida inicialmente pelos portugueses que aqui aportaram em 1500, este plo
tm muitas surpresas ao visitante: da Barra do rio Ca passando pelo Parque
Nacional de Monte Pascoal, Carava, Trancoso, Arraial D'Ajuda, Porto Seguro,
Coroa Vermelha at a foz do rio Joo Tiba.
Ao todo so 150 quilmetros de praias, enseadas, baas, falsias, rios e riachos
emoldurados por coqueirais, manguezais e mata atlntica.
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrlia oferecem infra-estrutura necessria para
atender ao turista.
465
Localidades: Belmonte, Porto Seguro, Trancoso, Carava, Santa Cruz Cabrlia e
Arraial D'Ajuda
Costa das Baleias
Est localizada no extremo sul da Bahia com diversas opes ao turista. Explorar
navios naufragados e cavernas submarinas com mergulhos orientados; ver raros
recifes de corais, como o em forma de crebro. Atrativo maior o Parque Nacional
Marinho de Abrolhos abrigando recifes de corais, ilhas vulcnicas, manguezais e
canais de mar. Outro atrativo que fascina turistas, ecologistas e estudiosos a
biodiversidade da regio, peixes, 17 espcies de corais e ambiente propcio para
que inmeras espcies da fauna marinha vivam ali ou se reproduzam.
Localidades: Nova Viosa, Caravelas, Alcobaa, Prado e Mucuri
Chapada Diamantina
Regio serrana de topografia acidentada, onde originam-se 90% do rios que iro
formar as bacias dos rios Paraguau, Jacupe e de Contas. So milhares de
quilmetros de guas que ao final transformam-se em cachoeiras, poos e piscinas
naturais complementando, vegetao exuberante com espcies cactceas prprias
da caatinga, exemplares da flora serrrana como bromlias, orqudeas e sempre-
vivas.
Localidades: Lenis, Mucug, Palmeiras, Itaquara, Jacobina, Andara, Rio de
Contas e Morro do Chapu
Caminhos do Oeste
Constitui-se em um dos mais novos roteiros baianos, seja por Braslia, Gois,
Tocantins ou norte de Minas, o estado interligado por rodovias modernas que se
contrapem com as antigas estradas boiadeiras ainda existentes.
So atrativos para todos os gostos, veredas, rios, corredeiras, cachoeiras, cavernas,
a prpria vegetao que mescla espcies de caatinga e cerrado; a fauna (tamandu
bandeira, raposa, siriema, gato do mato, moc, ona, jacar e pssaros coloridos); o
clima varivel de semi-rido a semi-mido seco com sol o ano inteiro e as diversas
histrias dos vaqueiros e moradores locais.
Localidades: Barreiras e Bom Jesus da Lapa
Rio So Francisco
A maior extenso deste rio est presente em terras baianas; em suas margens
desenvolvem-se importantes cidades, no somente isto, suas guas servem para
irrigar culturas tendo, desta maneira relevncia econmica e servindo de acesso ao
serto.
466
As diversas cidades s suas margens e o Lago de Sobradinho (maior lago do
mundo) atraem muitos visitantes para l.
Localidades: Paulo Afonso, Sobradinho, Juazeiro, Bom Jesus da Lapa, Remanso,
Ibotirama e Xique-Xique.
Serto
Para o turista que deseja se aventurar pelo serto baiano, as opes so os locais
onde ocorreu a Guerra de Canudos e as paisagens das cidades que compem o
plo.
Localidades: Cip, Euclides da Cunha, Canudos e Monte Santo
Cultura/Folclore
Outro passeio ou viagem que o turista realiza, mesmo sem perceber, pela cultura
baiana, resultado da fuso de brancos, ndios e afro-americanos manifestando
assim, um folclore rico com muitos festejos durante todo o ano, muitos deles
concentrando-se no vero. Diz-se que, quando a Bahia no est em festa, est
ensaiando pois, festas religiosas, blocos carnavalescos, grupos de ax e pagode
sempre esto presentes, seja realizando eventos ou ensaindo para eles.
O ponto mximo da manifestao cultural e folclrica da Bahia o carnaval. Durante
sete dias (de quarta-feira at a manh de quarta-feira de Cinzas) as cidades so
tomadas por habitantes locais e turistas do mundo todo que brincam o carnaval
pelos circuitos existentes: do Campo Grande Praa Castro Alves; outro no
sentido Barra-Ondina e o mais popular de todos do Pelourinho Rua Chile.
Opes folclricas baianas: Afox, Bacamarteiros, Bailes Pastoris, Bando
Anunciador, Bumba-meu-boi, Burrinha, Cabearras, Caboclinhos, Capoeira,
Chegana ou Marujada, Lamentao das Almas, Lindro Amor, Maculel, Mandus,
Puxada de Mastro, Samba de Roda, Talisms, Terno de Reis e Congos, Trana
Fitas e Zambiapunga.
Culinria
Tradies portuguesa, africana e indgena misturam-se formando a culinria tpica
baiana marcada pelo uso de especiarias, o que a torna inigualvel. Comum ver as
baianas, com seus trajes tpicos e tabuleiros pelas ruas, a vender os quitutes da
terra que so bem variados, doces, salgados, bebidas, alm das frutas regionais
(caj, mangaba, maracuj, manga, umbu, laranja e abacaxi).
467
Entre as iguarias esto:
Salgados: Abar, Acaraj, Arroz de coco, Arroz de hau, Carne de sol com piro de
leite, Caruru, Ef, Farofa de dend, Feijo de azeite, Frigideira de marisco,
Manioba, Mocot, Moqueca de peixe, Sarapatel, Vatap, Xinxin de galinha
Doces: Ambrosia de coco, Baba de moa, Banana real, Bolinho de estudante,
Cocada puxa, Quindim
Bebidas: Suco de frutas, Batidas, Alu de milho ou abacaxi, Licor de jenipapo
Artesanato
Apresenta traos das culturas indgena e africana marcados pela simplicidade e
originalidade das peas.
Utiliza-se muito o couro, a madeira, o barro, o metal e as fibras, resultando desses
materiais objetos como: Timbais, Agogs, Atabaques e muitos outros.
Dentre as vrias cidades baianas, algumas ressaltam-se como importantes centros
artesanais.
Couro: Feira de Santana
Barro: Maragogipinho, Rio Real e Cachoeira
Palha: Caldas do Jorro, Caldas de Cip e Itaparica
Metal: Rio de Contas e Muritiba
Madeira: Jequi, Valena e Feira de Santana
Ouro e Prata: Santo Antonio de Jesus, Rio de Contas e Monte Santo
Bordados e Tecelagem: Ilha da Mar
Diante das diversas opes existentes no estado, tambm o ecoturismo se faz
presente como forma de desenvolvimento sustentvel e correto dos recursos
naturais. Algumas localidades constituem-se plos deste tipo de turismo: Alcobaa,
Barreiras, Belmonte, Bom Jesus da Lapa, Cachoeira, Cairu, Camaari, Camamu,
Canavieiras, Candeias, Canudos, Caravelas, Cip, Costa do Saupe, Euclides da
Cunha, Igrapina, Ilhus, Imbassa, Itacar, Itaparica, Ituber, Jacobina, Juazeiro,
Lauro de Freitas, Lenis, Madre de Deus, Maragojipe, Mara, Monte Santo, Morro
de So Paulo, Morro do Chapu, Mucuri, Nazar, Nilo Peanha, Nova Viosa, Paulo
Afonso, Porto Seguro, Prado, Praia do Forte, Rio de Contas, Salinas da Margarida,
Santa Cruz Cabrlia, Santa Luzia, Santo Amaro, So Flix, So Francisco do Conde,
Saubara, Sobradinho, Tapero, Una, Uruuca, Valena e Vera Cruz.
468
Alm das cidades tursticas acima citadas, e das j conhecidas, como Salvador e
outras mais, a Bahia contempla seus visitantes com vrios pontos tursticos.
Pontos Tursticos
Terreiro de Jesus Museu da Cidade
Solar do Ferro Solar do Unho
Praa Cayru Praa da Piedade
Cmara dos Vereadores Museu de Arte da Bahia
Instituto Geogrfico e Histrico da Bahia Antiga Faculdade de Medicina
Catedral Baslica Museu Tempostal
Pelourinho Elevador Lacerda
Museu Geolgico Palcio Rio Branco
Memorial Irm Dulce Museu Carlos Costa Pinto
Gabinete Portugus de Leitura Museu Abelardo Rodrigues
So Marcelo Museu Casa do Benin
Ribeira Mercado Modelo
Praa da S Palcio da Aclamao
Praa Castro Alves Associao Comercial da Bahia
Fundao Casa de Jorge Amado Ponta de Humait
Palcio do Paranagu Antigo Porto
Grupo Escolar General Osrio Palacete Misael Tavares
Avenida Antonio Lavigne de Lemos Teatro Municipal
Vesvio Batacl
Casa dos Artistas Esttua de Sapho
Marco de Fundao Museu Regional do Cacau
Museu de Arte Sacra Catedral de So Sebastio
Convento Nossa Senhora da Piedade Cristo Redentor
Igreja Matriz de So Jorge Igreja Nossa Senhora da Escada
Capela de Santana Capela de Nossa Senhora das Vitrias
Capela Nossa Senhora de Lourdes
469
CEAR
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/ce.html
Histria, Povoamentos e Colonizao
Com a criao da "Capitania do Siar" doada posteriormente (1535) a Antonio
Cardoso de Barros teve incio a histria deste Estado. Pro Coelho de Souza
comandava em 1603 uma expedio que acabou por fundar a colnia de Nova
Luzitnia. Fazia parte da expedio um jovem rapaz, Martim Soares Moreno (17
anos), considerado como o verdadeiro fundador do Cear. Conhecia a lngua e os
costumes dos ndios e obteve seu apoio para derrotar os franceses e holandeses
que invadiam a regio.
No ano de 1619 depois de muito combater os invasores, Soares Moreno obteve o
ttulo de Senhor da Capitania do Cear (atravs de Carta Rgia) l se fixando por
muitos anos; teve um romance com a ndia Iracema imortalizado na obra de Jos de
Alencar.
Como a maioria dos estados do norte e nordeste, o Cear tambm fazia parte do
Maranho e Gro-Par isto at 1621. Invadido pelos holandeses em 1637 e 1649
que ocupavam a regio do atual Pernambuco, subordinou-se at o ano de 1799, ano
em que conquistou autonomia. Com a pecuria em desenvolvimento na Bahia e
Pernambuco, muitos criadores ocuparam o interior do Cear propiciando a formao
de vilas prximas as fazendas e paradas das tropas.
Juntamente com o Pernambuco, o Rio Grande do Norte e a Paraba, participou em
1824 da Confederao do Equador. Seu desenvolvimento propriamente dito se deu
a partir da segunda metade do sculo XIX quando a navegao a vapor, as estradas
de ferro, a iluminao a gs e o telefone chegaram ao estado.
Vale ressaltar que, enquanto provncia, o Cear foi o primeiro a libertar seus
escravos (1884) e a aderir Repblica.
Localizao e rea Territorial
Localiza-se abaixo da linha do Equador, ao
norte da regio nordeste do Brasil, em plena
regio do semi-rido. Com 184 municpios, e
uma rea de 146.817 km o estado limita-se,
a Leste com o Rio Grande do Norte e
Paraba, ao Sul com Pernambuco, a Oeste
com o Piau e ao Norte com o Oceano
Atlntico. Sua populao aproximada de
7.106.605 habitantes.
470
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ce1.html
471
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rce.html
472
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hce.html
473
Imagem de Satlite
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/ice.html
474
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ce2.html
Governador: Lucio Gonalo de Alcantara
Centro Administrativo Governador Virgilio Tvora
Fone: (0xx85) 277-5200
E-mail: gabgov@gabgov.ce.gov.br
Vice-governador: Francisco Queiroz Maia Jnior
Av.Washington Soares, 707
Fone: (0xx85) 488-3939
E-mail: vicego.assmil@secril.com.br
Secretarias de Estado:
Secretaria da Segurana Pblica e Defesa da Cidadania - SSPDC
Francisco Wilson Vieira do Nascimento (secretrio)
Av. Baro de Studart, 505
Fone: (0xx85) 433-8100
E-mail: sspdc@sspdc.ce.gov.br
Secretaria do Governo - SEGOV
Luiz Alberto Vidal Pontes (secretrio)
Av. Ministro Jos Amrico, s/n
Fone: (0xx85) 218-1046
E-mail: segov@segov.ce.gov.br
Secretaria da Administrao - SEAD
Carlos Mauro Benevides Filho (secretrio)
Av. Central com Variante A, s/n - 3o. andar
Fone: (0xx85) 488-5001
E-mail: sead@sead.ce.gov.br
Secretaria da Agricultura Irrigada - SEAGRI
Carlos Matos Lima (respondendo)
Centro Administrativo Governador Virgilio Tvora - Trreo
Fone: (0xx85) 488-2550
E-mail: seagri@seagri.ce.gov.br
Secretaria da Cincia e Tecnologia - SECITECE
Hlio Guedes de Campos Barros (secretrio)
Av. Washington Soares, 707 - gua Fria
Fone: (0xx85) 241-4300
E-mail: sct@sct.ce.gov.br
Secretaria da Cultura e Desporto - SECULT
Cludia Souza Leito (secretria)
Rua Baro de Studart, 505
Fone: (0xx85) 264-4547
E-mail: secult@secult.ce.gov.br
475
Secretaria de Educao Bsica - SEDUC
Sofia Lerche Vieira (secretria)
Av. Gal. Afonso A. Lima, s/n
Fone: (0xx85) 488-8300
E-mail: seduc@seduc.ce.gov.br
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Paulo Rubens Fontenele Albuquerque (secretrio)
Av. Alberto Nepomuceno, 02
Fone: (0xx85) 255-1000
E-mail: sefaz@sefaz.ce.gov.br
Secretaria de Recursos Hdricos - SRH
Edinardo Ximenes Rodrigues (secretrio)
Centro Administrativo Governador Virgilio Tvora - Bloco C - 2 andar
Fone: (0xx85) 488-8503
E-mail: srh@srh.ce.gov.br
Secretaria do Trabalho e Ao Social - SETAS
Raimundo Gomes de Matos (secretrio)
Rua Soriano Albuquerque, 230
Fone: (0xx85) 488-5155
Secretaria da Sade - SESA
Jurandir Frutuoso Silva (secretrio)
Av. Almirante Barroso, 600
Fone: (0xx85) 488-2000
E-mail: saude@saude.ce.gov.br
Secretaria de Turismo - SETUR
Roberto Meira de Almeida Barreto (secretrio)
Centro Administrativo Virglio Tvora - Trreo
Fone: (0xx85) 488-3900
E-mail: turismo@setur.ce.gov.br
Secretaria do Planejamento e Coordenao - SEPLAN
Francisco de Queiroz Maia Jnior (secretrio)
Centro Administrativo Governador Virglio Tvora - 2 e 3 Andares
Fone: (0xx85) 218-1216
E-mail: seplan@seplan.ce.gov.br
Secretaria de Infra-estrutura - SEINFRA
Luiz Eduardo Barbosa de Moraes (secretrio)
Centro Administrativo Governador Virglio Tvora - 1 Andar
Fone: (0xx85) 488-3500
E-mail: seinfra@seinfra.ce.gov.br
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR
Carlos Matos Lima (secretrio)
Av. Bezerra de Menezes, 1820
Fone: (0xx85) 288-1500
E-mail: sdr@sdr.ce.gov.br
476
Secretaria da Justia - SEJUS
Jos Evnio Guedes (secretrio)
Rua Antonio Augusto, 555
Fone: (0xx85) 232-4944
E-mail: sejus@sejus.ce.gov.br
Secretaria do Desenvolvimento Econmico - SDE
Francisco Regis Cavalcante Dias (secretrio)
Av. Central com Variante A, s/n - 2 Andar
Fone: (0xx85) 488-2941
E-mail: sde@sde.ce.gov.br
Secretaria da Ouvidoria-geral e do Meio Ambiente - SOMA
Jos Vasques Landim (secretrio)
Av. Baro de Studart, 505 - 1 Andar
Fone: (0xx85) 433-1016
E-mail: soma@soma.ce.gov.br
rgos Ambientais
Superintendncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE
Rua Jaime Benvolo, 1400 - Bairro de Ftima
CEP: 60.050-081
Fone: (0xx85) 488-7474
Fax: (0xx85) 254-1198
E-mail: semace@semace.ce.gov.br
h) Outorga de guas
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ce_aguas.html
A outorga constitui o documento que assegura ao usurio o direito de usar gua
naquele local, daquela fonte, naquela vazo e no perodo determinado para aquela
finalidade.
O sistema de Outorga do Direito de Uso da gua foi criado pelo Decreto 23.067 de
11/02/94 em regulamentao da Lei 11.996 de 24/07/92. O uso da gua sem
outorga constitui a primeira infrao Lei 11.996 de 24/07/92, e portanto sujeito a
penalidades.
Importncia da Outorga
O direito de uso da gua conferido, atualmente, na forma de autorizao pessoa
que a requereu, no pode ser transferida.
Instrumento de controle do uso e de melhoria na oferta d'gua, elementos
fundamentais no processo de gesto dos recursos hdricos.
Instrumento legal que promove o acesso gua para todos os usurios.
477
Direito que estimula a participao do usurio na gesto dos recursos hdricos.
Pedido de Outorga
Devem solicitar outorga os usurios de guas dominais do Estado que envolvam:
Captaes de gua superficial ou subterrnea cujo consumo exceda 2.000l/h (dois
mil litros por hora).
Lanamentos de esgotos lquidos ou gasosos com o fim de sua diluio em
qualquer fonte de gua.
Qualquer outro tipo de uso que altere o regime, a quantidade e a qualidade da
gua.
Documentao
A outorga deve ser solicitada atravs de formulrio prprio que contm as
informaes mnimas necessrias avaliao tcnica, e dever ser requerida ao Sr.
Secretrio dos Recursos Hdricos.
Procedimentos para a outorga:
O tipo de uso define o formulrio a utilizar.
Requerimento/Dados do requerente.
Informaes do Empreendimento/Da propriedade/Posse da terra.
Dados da fonte de suprimento dgua e local da captao.
Coordenadas do ponto de captao - Dados tirados da carta da SUDENE escala
1:100.000 (anexar fotocpia da parte da carta), ou com o uso de GPS. Esta
informao importante para mapeamento das outorgas ao longo do Rio
Perenizado.
Caractersticas do conjunto de bombeamento.
Perodo de irrigao ou de uso e horas dirias de bombeamento.
Vazo mxima requerida e vazo mdia mensal.
olume total requerido e volume mdio mensal.
rea total a irrigar/consumos para outros usos.
Culturas, mtodo de irrigao e perodo de plantio.
Instituio financeira de crdito.
478
Local
Existem no Estado do Cear, atualmente, quatro pontos onde possvel fazer os
pedidos de Outorgas e Licenas para o uso da gua:
SECRETARIA DOS RECURSOS HDRICOS
Centro Administrativo Governador Virglio Tvora - CAMBEBA
Av. Gal. Afonso A. Lima S/N Ed. SEDUC - Bloco C 2 Andar - DGH
CEP: 60.819-900 Fortaleza/Cear
COGERH - FORTALEZA
Av. Aguanambi, 1770 Bairro de Ftima
CEP: 60.055-403 - Fortaleza/Cear
COGERH - LIMOEIRO DO NORTE
Rua: Coronel Antnio Joaquim, 1296
CEP: 62.930-000
Limoeiro do Norte/Cear
COGERH - PENTECOSTE
Rua: Eufrsio Lopes de Sales, 930 Bairro: Acampamento
CEP: 62.640-000 Pentecoste/Cear
Tramitao
O pedido ao ser protocolado na Secretaria dos Recursos Hdricos - SRH, compe
um processo que recebe um nmero e fica cadastrado na Diretoria de Gesto dos
Recursos Hdricos - DGH, passando a ser analisado por uma Cmara Tcnica de
Outorga - CTO, cujo parecer tcnico discutido e aprovado em reunies semanais
(2 feiras).
O processo encaminhado a DGH para expedio da OUTORGA se deferido o
pedido, ou para informao ao interessado em caso de deciso denegatria
Fonte: Secretaria dos Recursos Hdricos do Estado do Cear Governo do Cear
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ce3.html
de competncia da SOMA, propor polticas de aes que visam a preservao e
utilizao dos recursos ambientais. Entre suas atividades destaca-se:
Prticas dos 3Rs
Reduo, Reutilizao e Reciclagem - so formas, de diminuir a explorao de
recursos naturais, o impacto ambiental da sociedade urbano -industrial e rural, enfim,
a qualidade do nosso lixo.
479
Reduo - envolve atividades e medidas para se evitar o descarte de resduos.
Reutilizao - o aproveitamento de produtos antes de ir para o lixo ou para a
reciclagem.
Reciclar - a forma de reaproveitar parte das coisas que se joga fora.
Educao Ambiental
Estimula as aes da SEMACE para implementao em todos os municpios, do
Programa de Educao Ambiental do Estado do Cear - PEACE.
Criao de selo ambiental
Esse projeto tem como objetivo lanar um selo ambiental para empresas do estado
do Cear, que venham a desempenhar um papel importante na busca da
sustentabilidade ou de formas de explorao do meio ambiente que permitam a
renovao de recursos.
O projeto Selo SOMA ser voluntrio, ou seja, a empresa que desejar usar o selo
ter que participar dos programas permanentes que contemplar o projeto, como:
oficinas de educao ambiental, coleta seletiva de lixo... e passar por anlise de pr-
requisitos, tais como, no agredir o meio ambiente.
Implantao da A3P
A Agenda Ambiental na Administrao Pblica - A3P o programa que cuida da
insero dos critrios ambientais nas reas de governo, visando minimizar ou
eliminar os impactos ao meio ambiente, provocados por atividades administrativas
ou operacionais, lanado pelo Ministrio do Meio Ambiente - MMA.
Tambm fazem parte das atividades da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente - SOMA, o desenvolvimento de conselhos e grupo de trabalhos, os quais
visam a construo de um processo de conscientizao da preservao e
conservao do meio ambiente.
SISAR
Sistema Integrado de Saneamento Rural, um conselho formado por entidades
governamentais e associaes comunitrias, cujo objetivo administrar o uso da
gua.
GTP
Grupo de Trabalho Participativo, uma parceria entre a Secretaria Executiva do
Complexo Industrial e Porturio do Pecm e as Secretarias do Governo para atender
as necessidades da comunidade.
480
Plano de Desenvolvimento Regional do Macio de Baturit
Visa proporcionar um estudo dos problemas regionais como forma de encontrar
solues criativas e intensificar as oportunidades que se colocam diante da regio.
http://www.soma.ce.gov.br/meioambiente/default.html
j) Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ce4.html
formado por cinco unidades geomorfolgicas com altitudes que vo de 0 (zero) a
1.000m.
Pediplano: ocupa a maior poro do territrio cearense, constituindo-se de um
amplo planalto onde as altitudes so de 400-500m.
Serras: localizam-se ao norte (Baturit, Uruburetama, Maranguape, Meruoca)
erguendo-se a partir dos pediplanos.
Chapadas: tratam-se de elevaes tabulares, as quais ocupam uma grande
extenso territorial e, delimitando naturalmente o estado. Trs chapadas destacam-
se: Apodi (mais baixa, divisa com Rio Grande do Norte), Ibiapaba (limite entre Cear
e Piau) e Araripe (ao sul, fronteira com Pernambuco).
Tabuleiros Litorneos: estendem-se ao longo das praias com altitudes que no
ultrapassam 100 metros. E por fim,
Plancies Aluviais: tambm so chamadas de vrzeas tendo suas terras inundadas
durante as cheias. Esto situadas prximo dos cursos dos rios Jaguaribe, Acara e
outros.
Hidrografia
Algumas elevaes naturais presentes no estado formam divisores de guas entre
os rios locais que recebem guas pluviais, no dispondo de outras fontes perenes, o
que os torna rios temporrios reforados pelo curto perodo chuvoso.
Durante o inverno, as chuvas so mais freqentes preenchendo os cursos, passado
este perodo, o escoamento diminui permanecendo somente os rios cujos leitos so
porosos e arenosos, ou queles com lenol fretico prximo da superfcie.
A hidrografia cearense pode ser dividida em quatro bacias e uma sub-bacia.
- Bacia do Jaguaribe: ocupa 50% do territrio correspondendo s pores sul e
centro-oriental. O rio Jaguaribe o mais importante e extenso da regio; nasce nas
serras de Calogi, Pipoca e Joaninha, seus afluentes so o Banabui, Palhano e
Salgado. Dos ades construdos ao longo destas bacias, os mais importantes so o
Ors, o Cedro, o Banabui e o Castanho.
481
- Bacia do Acara: ocupa 15% do territrio ao norte, sendo a nascente do rio
Acara situada nas Serras das Matas, Matinha Branca e Cupira. Principais rios:
Groairas, Jaibaras e Riacho dos Macacos. Ades de importncia construdos,
Araras (maior reservatrio) e Ayres de Sousa.
- Bacia do Curu: nasce na Serra do Machado, sendo o rio Curu o mais imporante
desta bacia contando com os seguintes afluentes, Canind e Caxitor. Tambm
nesta bacia existem ades, reservatrios de emergncia para seca e irrigao
(ades de Caxitor, General Sampaio e Pentecoste).
- Bacia Litornea: a maioria dos rios seguem para o Atlntico; os rios litorneos
geralmente so pouco extensos uma vez que suas nascentes esto prximos da foz.
Os principais rios desta bacia, que tm sua ocorrncia ao norte do estado so o
Aracatiau, o Corea, o Pacoti, o Chor e o Pirang.
- Sub-bacia do Poti: nasce na poro oeste do estado, atravessando a chapada de
Ibiapaba seguindo para o Piau onde desgua no rio Parnaiba.
Clima
Cerca de 95% do territrio dominado pelo clima semi-rido quente.
Segundo a classificao de Kppen predomina no estado o clima semi-rido quente
(Bsh) com variaes de temperaturas nas diferentes regies do estado, litoral
(27C), Serras (22C) e Serto (33C durante o dia e 23C a noite).
As chuvas, por sua vez, so reduzidas e escassas diferindo da mesma forma, de
regio para regio. Em alguns pontos o ndice pluviomtrico registrado fica abaixo
dos 1.000mm e em alguns 600mm (bacia do rio Caxitor). Em outros, como no vale
do Cariri, Serra de Uruburetama e Baturit e chapada do Ibiapaba as chuvas
ocorrem com mais freqncia, em ndices superiores a 1.000mm. Nestas serras e
chapadas as chuvas so mais regulares e com perodo mais longo, tornando as
temperaturas nestas reas mais amenas.
Cerca de 95% do territrio dominado pelo clima semi-rido, o que integra quase
que todo o Estado ao Polgono das Secas.
Vegetao
Noventa e um por cento da superfcie territorial cearense dominada pela caatinga,
a qual recobre todo o serto.
Duas variedades podem ser observadas:
Caatinga Hipoxerfila: tpica das regies de clima menos rigoroso, como baixada
litornea e sop da Ibiapaba com espcies de maior porte e densidade ocupando
28.734,8 km do estado.
Caatinga Hiperxerfila: caracterstica das regies mais ridas, tratando-se portanto
de uma vegetao rala e baixa com exemplares espinhosos (algaroba, pau-branco
482
etc) e cactceos (xique-xique, mandacaru etc). 81.546,9 km do territrio so
tomados por esta variedade.
Alm desta tipologia, cerrados e carnaubais compem a paisagem.
Cerrados: formado por rvores baixas e retorcidas destacadas em meio a
gramneas recobrindo o topo das chapadas. As serras e a base das chapadas so
revestidas por exemplares da floresta tropical.
Carnaubais: encontrados principalmente nas vrzeas dos rios, em especial prximo
dos rios Jaguaribe, Acara e Corea, caracterizados pela expressiva presena da
espcie Copernicia prunifera (carnaba), palmeira tpica da regio associada a
outras espcies.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ce5.html
A diversidade e riqueza de paisagens - praias, sertes, serras, cidades histricas -
encantam os turistas que visitam o Cear; a hospitalidade, a culinria, a cultura alm
de outros aspectos tornam o estado bastante atrativo, quem visita volta e
recomenda.
Com uma das maiores orlas martimas do pas (573 quilmetros de extenso), rica
em dunas, falsias, coqueirais e enseadas de gua doce, o estado conta com praias
urbanizadas - Iguape e Icara - que se contrapem com os j conhecidos parasos
de Jericoacoara, Quixaba, Morro Branco, Canoa Quebrada e Munda, praias estas
que fornam a Rota do Sol Nascente e Sol Poente. J a regio de serras, onde o
clima mais ameno, o turista pode desfrutar de paisagens naturais, da prpria
vegetao original, contando com a infra-estrutura de pousadas e guias para o
turismo ecolgico, vocao das serras cearenses; destacam-se neste segmento os
municpios de Guaramiranga, Ubajara, Aratuba, Baturit, Mulungu, Pacoti, Palmcia
e Redeno. Outros atrativos so o Parque Nacional de Ubajara, a Floresta Nacional
do Araripe, o Pico Alto e o Pico da Serra Branca.
O serto cearense, por sua vez, abrange 57% do territrio apresentando atrativos de
igual beleza com certas diferenas. As cidades sertanejas so formadas por um
povo acolhedor, suas construes remontam histria local, bem como, a culinria.
O ecoturismo e os ecoesportes predominam oferecendo inmeras trilhas para
caminhadas com formaes rochosas e inscries rupestres ao longo do caminho,
vo livre e rappel. Dentre os municpios sertanejos que apresentam este potencial
esto: Banabui, Canind e Quixad.
Culinria
formada pelo misto da culinria portuguesa, indgena e africana sendo valorizados
no preparo o uso de peixes e temperos. Baseia-se em especial na pesca, sendo a
pecuria e os gneros agrcolas um apoio na culinria local. Lagostas, uma grande
variedade de peixes, camaro e caranguejos so ingredientes indispensveis no
preparo de peixadas, camaro ensopado com alho e leo, caranguejo cozido, patas
de caranguejo milanesa e casquinha de caranguejo. Frutos da terra como:
483
macaxeira, batata-doce, coco e milho so bastante utilizados para se fazer bolos,
cuscuz, mungunz, canjica, pamonha e p-de-moleque, enquanto que o feijo e o
arroz formam o tradicional e conhecido baio-de-dois com manteiga e queijo coalho.
Utiliza-se tambm a carne seca no preparo da paoca (acompanhamento do baio-
de-dois), a panelada, a buchada, e o famoso sarapatel so exemplos de pratos
tpicos que utilizam carne animal em seu feitio. Para acompanhar os diversos pratos
regionais, ou para serem simplesmente degustados, caldo-de-cana, cachaa, sucos
de frutas tropicais locais e cajuna (bebida fermentada feita de caj, doce e suave).
Como sobremesa rapadura, doces e sorvetes de caj, mamo, coco, manga, goiaba,
maracuj, caj e outros mais.
Cultura
Manifestada atravs do artesanato, folclore e demais costumes populares
relembrando, muitas vezes, suas origens.
O artesanato traz as caractersticas indgenas repassadas de gerao a gerao; os
trabalhos so criativos e simples, porm, de uma beleza sem igual e detalhes que
encantam turistas. Estes trabalhos podem ser apreciados e comprados em diversas
localidades como, por exemplo:
- Renda de bilro: faixa litornea;
- Labirinto: faixa litornea;
- Cestaria e tranado: artigos de bambu e cip encontrados em Sobral, Russas,
Limoeiro do Norte, Jaguarana, Aracati, Massap, Crates, Baturit e Camocim;
- Couro: so diversos produtos entre calados em geral, roupas e utilitrios para o
sertanejo fabricados em Fortaleza, Jaguaribe e Juazeiro do Norte sendo
comercializados nas feiras do interior e capital em ncleos sertanejos como
Aracoiba, Itapiuna, Crato, Morada Nova e Jaguaribe;
- Tecelagem: destacam-se as redes decorativas e utilitrios em Fortaleza e
Jaguaribe;
- Metal: artigos em geral de uso local em especial feitos em Juazeiro do Norte e
Fortaleza;
- Madeira: utenslios bsicos e mveis dos mais simples, rsticos e modernos so
esculpidos em Fortaleza, Canind, Cascavel, Juazeiro do Norte e Barbalha;
- Artes Grficas: xilogravura feitas para a capa de folhetos de cordel, encontrados
nas feiras nordestinas;
- Imaginrios: retrata a crena, os santos de devoo do povo cearense. Juazeiro
do Norte e Canind;
- Lembranas: souvenirs da viagem podem ser encontrados na orla martima de
Fortaleza, mini-jangadas, objetos de tartaruga, adornos etc.
484
Folclore
Tambm o folclore local constitui-se em atrativo turstico com suas danas e
folguedos, expressando as tradies e os costumes populares, manifestando
espontaneamente a fuso das culturas branca, negra e indgena originrias.
Destaque para o Bumba-meu-Boi ou Boi-Cear.
Outras expresses artsticas e culturais do folclore regional so representados em
sua maioria na poca natalina sendo eles: o Auto ou drama pastoril, o Pastoril, o
Reisado, a Caninha Verde, a Dana do Coco, o Maneiro Pau, a Tirao de Reis, a
Banda Cabaal, o Torm, a Dana de So Gonalo e o Maracatu.
Por ser o Cear, estado dotado de belas paisagens naturais torna-se inegvel sua
vocao para o Ecoturismo; plos de ecoturismo foram implantados conforme a rea
de abrangncia:
Plo Ecoturstico Municpios
Vale Monumental do
Cear - Serto Central
Quixad e Quixeramobim
Serra do Baturit
Aratuba, Baturit, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti,
Palmcia e Redeno
Cariri
Barbalha, Crato, Jardim, Juazeiro do Norte, Misso
Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri
Ibiapaba
Carnaubal, Ibiapina, Ipu, Guaraciaba do Norte, So
Benedito, Tiangu, Ubajara e Viosa do Cear
Extremo Litoral Oeste
Acara, Barroquinha, Camocim, Cruz, Gijoca e
Itarema
Extremo Litoral Leste Aracati, Fortim e Icapu
485
ESTADO DO MARANHO
Histria, Povoamentos e Colonizao
Espanhis em 1500, portugueses em 1535 e franceses em 1612 buscaram ocupar a
regio do atual estado do Maranho, porm, os franceses em nmero de 500
chegaram em trs navios e fundaram a Frana Equinocial.
Lutas e trguas entre franceses e portugueses ocorreram at 1615, quando os
portugueses retomaram em definitivo a colnia. Instituiu-se o Estado do Maranho e
Gro-Par em 1621, objetivando melhorar a defesa da costa e os contatos com
Salvador, dificultados devido as correntes martimas.
Em 1641 ocorreu a invaso e ocupao da ilha de So Luiz (homenagem ao rei Luiz
XIII) por parte dos holandeses, expulsos trs anos aps pelos portugueses.
Consolidado o domnio portugus em 1774 Maranho e Par separaram-se. Como a
influncia portuguesa era bastante forte no Maranho, o estado somente aceitou,
aps interveno armada, a independncia do Brasil de Portugal em 1823.
A produo de acar, cravo, canela e pimenta formava a base econmica do
estado no sculo XVII. Nos sculos seguintes juntamente com o arroz e o algodo, o
acar formou a base da economia escravocrata. Abolida a escravido, o estado
entrou em decadncia econmica vindo a se recuperar somente no sculo XX com a
industrializao txtil.
O povoamento do estado se deu devido a migrao dos srios-libaneses no incio do
sculo XX, que se dedicaram ao comrcio, passando para os grandes
empreendimentos e a poltica, e tambm, a migrantes vindos do Cear em busca de
melhores condies para a agricultura, dedicando-se a cultura do arroz.
Localizao e rea Territorial
Est localizado entre os paralelos 102'30" e
1015'43" de latitude sul e os meridianos
4149'11" e 4845'25" de longitude oeste.
Ocupa 333.365,6 km de rea territorial no
litoral norte do Brasil. Faz limite ao norte com
o Oceano Atlntico; a Leste com o Piau; ao
Sul e Sudoeste com Tocantins e a Oeste com
o Par.
A capital So Luis, Imperatriz, Caxias,
Babacal, Santa Ins, Alcntara, Pinheiro,
Timon, Predeiras, Cod e Barra do Corda so as cidades mais populosas do estado,
entre outras que, segundo o Censo 200 totalizam 5.638.381 habitantes
aproximandamente. Sua posio geogrfica o privilegia com a proximidade dos
grandes mercados consumidores e exportadores internacionais.
486
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ma1.html
487
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rma.html
488
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hma.html
489
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/ima.html
Fonte: SatMdia - Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
490
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ma2.html
Permance para a gesto de 2003-2006 a organizao em gerncias, visando a
reestruturao geral do sistema de governo.
Governador: Jos Reinaldo Tavares
Vice-governador: Jurandir Ferro de Lago Filho
Palcio Henrique de La Rocque
Av. Jernimo de Albuquerque, s/n - Calhau
CEP: 65.051-200
Fone: (0xx98) 217-2561 / 235-5005
Fax: (0xx98) 235-5880
E-mail: governo@ma.gov.br
Gerncia de Estado de Planejamento e Gesto
Luciano Fernandes Moreira (gerente)
Av. Jernimo de Albuquerque, s/n
Ed. Clodomir Milet
CEP: 65.074-220
Fone: (0xx98) 227-5588 / 5741 / 5593
Fax: (0xx98) 227-5645
Gerncia de Estado de Desenvolvimento Econmico
Danilo de Jesus Vieira Furtado (gerente)
Av. Carlos Cunha, s/n
Ed. Nagib Haickel
CEP: 65.076-820
Fone: (0xx98) 217-4055 / 4073
Fax: (0xx98) 217-4089
E-mail: danilofurtado@gde.ma.gov.br
Gerncia de Estado da Receita Estadual
Jos de Jesus do Rosrio Azzolini (gerente)
Av. Jernimo de Albuquerque, s/n
Ed. Clodomir Milet - 4 Andar
CEP: 65.051-200
Fone: (0xx98) 227-5206
Fax: (0xx98) 227-5548
E-mail: gere@gere.ma.gov.br
Gerncia de Estado de Infra-estrutura
Joo Cndido Dominici (gerente)
Av. Jernimo de Albuquerque, s/n
Ed. Clodomir Milet - 3 Andar
CEP: 65.051-220
Fone: (0xx98) 218-8053 / 8055
Fax: (0xx98) 218-8052
E-mail: geinfra@ma.gov.br
491
Gerncia de Estado de Qualidade de Vida
Abdon Jos Murad Neto (gerente)
Av. Carlos Cunha, s/n
Ed. Nagib Haickel
CEP: 65.076-820
Fone: (0xx98) 246-9168 / 9244 / 9168
Fax: (0xx98) 246-9204
E-mail: gqv@gqv.ma.gov.br
Gerncia de Estado de Desenvolvimento Humano
Luis Fernando Silva (gerente)
Rua Virgilio Domingos, 741 - So Francisco
CEP: 65.076-340
Fone: (0xx98) 227-7922 / 7449 / 7948
Fax: (0xx98) 227-7572
E-mail: gabinete@gdh.ma.gov.br
Gerncia de Estado de Desenvolvimento Social
Ricardo de Alencar Fecury Zenni (gerente)
Av. Jernimo de Albuquerque, s/n
Ed. Clodomir Milet - 2 Andar
Fone: (0xx98) 227-5559 / 5727 / 5730
Fax: (0xx98) 227-5551
E-mail: gds@ma.gov.br
Gerncia de Estado de Justia, Segurana Pblica e Cidadania
Raimundo Soares Cutrim (gerente)
Av. dos Franceses, s/n - Vila Palmeira
CEP: 65.036-284
Fone: (0xx98) 243-1719 / 1559
Fax: (0xx98) 243-3929
E-mail: gejusp@ma.gov.br
Gerncia de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Othelino Nova Alves Neto (gerente)
Av. Carlos Cunha, s/n - Ed. Nagib Haickel
CEP: 65.076-820
Fone: (0xx98) 246-5298
Fax: (0xx98) 246-5298
Gerncia de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Conceio de Maria Carvalho Andrade (gerente)
Av. Carlos Cunha, s/n - Ed. Nagib Haickel
CEP: 65.076-820
Fone: (0xx98) 217-4036 / 4005
Fax: (0xx98) 217-4093
492
rgos Ambientais
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
- Procuradoria da Repblica no Estado do Maranho PR/MA
- Secretaria da Cultura, Meio Ambiente, Desporto e Turismo SECMADTUR
- Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hdricos - SEMA
h) Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ma5.html
Saneamento Ambiental da Ilha de So Lus
O sistema ambiental tem como uma das principais aes a construo do Sistema
de Tratamento de Esgoto da Ilha de So Lus, que prev a construo de 4 estaes
de tratamento Estao de Tratamento do Bacanga, Jaracaty, Vinhais e
Alemanha/Anil.
A primeira das estaes, localizada
no Itaqui-Bacanga, teve
investimentos do Governo da
ordem de R$ 8,7 milhes e
implantado em julho de 2003,
representando um marco na
histria da proteo ambiental da
Ilha de So Lus. Com capacidade
para tratamento de 300 litros por
segundo de esgotos, suporta o atendimento a uma populao de 115.000
habitantes, sendo possvel sua ampliao para permitir o atendimento de at
150.000 habitantes. Nesta fase inicial, em funo da extenso da rede coletora
executada, sero tratados em mdia 432.000 litros de esgoto por dia, que
corresponde a contribuio proveniente da regio do Centro Histrico da cidade de
So Lus.
Um aspecto importante a destacar o sistema de desinfeco que, ao invs da
utilizao do sistema convencional efetuado atravs da utilizao de cloro que
comprovadamente prejudicaria tanto a flora como a fauna do entorno da Ilha,
especialmente os manguezais, ser utilizado o oznio produzido por equipamento
especialmente projetado, com capacidade para eliminao do resduo
eventualmente no consumido, evitando agresses ao ambiente.
A segunda estao de tratamento, do Jaracaty, no bairro So Francisco, abrange
uma rea de 19 km e uma populao de 77 mil habitantes de bairros como So
Francisco, Ponta dAreia, Renascena I e II e Ilhinha. Esto sendo usados recursos
da ordem de R$ 8,2 milhes, para sanear uma das regies de maior densidade
populacional de So Lus, e tem concluso prevista para novembro deste ano.
493
O saneamento ambiental dessa regio garantir o abastecimento e a qualidade da
gua, melhorar a qualidade ambiental e a sade da populao, alm de
estabelecer as condies para mais e melhores investimentos para a capital do
Estado.
Sem dvida, o processo com sua continuidade garantida pelo Governo de Estado do
Maranho, como demonstram as obras para construo dessas estaes de
tratamento de esgotos garante a melhoria da qualidade de vida a todos os
habitantes da Ilha de So Lus.
Gesto, Monitoramento e Controle Ambiental
No Ano Estadual das guas, institudo pelo Governador Jos Reinaldo Tavares, a
Gerncia de Meio Ambiente e Recursos Naturais GEMA deu continuidade a uma
srie de atividades que visam
o melhor gerenciamento dos recursos hdricos, tais como:
Reviso da lei estadual de recursos hdricos do Estado.
Demarcao da rea das nascentes do Rio Itapecuru, realizada em parceria com
o Iterma, na rea de abrangncia do Parque Estadual do Mirador.
Delimitao de rea de 20 km de extenso entre as nascentes dos Rios
Itapecuru e Alpercatas com vistas
preveno contra desmatamentos e queimadas.
Capacitao e educao ambiental no Parque do Mirador.
Elaborao do Plano de Gerenciamento Participativo dos Recursos Hdricos da
Baixada Maranhense, em cooperao tcnico/cientfica com o PROGUA, que
se configurar em um refinamento do zoneamento ecolgico/econmico da
regio, inclusive com estudos do potencial aqfero superficial e subterrneo, o
que ser til para o manejo sustentvel dos Lagos Maranhenses.
Ampla parceria para elaborao do Frum Internacional de Meio Ambiente com a
temtica Recursos Hdricos e Alternativas
Energticas.
Como parte do Plano Estratgico para
Desenvolvimento dos Lenis Maranhenses, o
Governo desenvolveu, alm de atividades de
fiscalizao, capacitao e educao ambiental, o
Diagnstico Ambiental do Riacho Tibrcio, que oferece
alternativas para sua revitalizao em rea de grande
importncia estratgica para o desenvolvimento do
ecoturismo.
Outra importante ao tem sido a implantao do Plano de Gesto Integrada de
Resduos Slidos em cooperao com o Governo Federal, que foi iniciada pelo
municpio de Cururupu, e ser ampliado para mais 21 municpios. O plano visa o
manejo adequado dos resduos residenciais, industriais e hospitalares entre outros,
por meio da capacitao de agentes ambientais e apresentao populao das
494
diretrizes para se obter um destino final adequado para os resduos produzidos nos
municpios, contemplados, assim promovendo a melhoria da qualidade ambiental e
da vida da populao.
No processo de licenciamento e fiscalizao ambiental, importante para o
acompanhamento, monitoramento e fiscalizao de empreendimentos que se
configurem potencialmente poluidores, a GEMA apresentou desempenho, conforme
segue:
Atividade Desempenho
Licenciamento Ambiental 83 LP; 143 LI; 32 LO*
Anlise de Termos de Referncia 41
Plano de Controle Ambiente 154
Relatrio de Controle Ambiental 3
Plano de Recuperao de reas Degradadas 4
Estudo Prvio de Impacto Ambiental 2
Vistoria Tcnica 120
Termo de Embargo 21
Auto de Infrao 15
Auto de Notificao/Intimao 269
Termo de Apreenso e Depsito 32
* LP: Licena Prvia; LI: Licena de Instalao; LO: Licena de Operao.
O produto de multas e expedies de licenas ambientais, resultantes das atividades
da fiscalizao e defesa dos recursos naturais promoveu arrecadao de recursos
na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente no total de R$ 429.936,93.
Conservao e Educao Ambiental
Para a promoo da proteo ambiental, o Parque Estadual do Bacanga, importante
rea de recarga de guas subterrneas, est sendo alvo de um diagnstico para
implementao de Plano de Manejo com vistas a gerenciar o principal remanescente
da Pr-amaznia na Ilha de So Lus.
Para ampliar as aes de educao ambiental, a Comisso Interestadual de
Educao Ambiental do Estado do Maranho est sendo reestruturada,
simultaneamente amplas parcerias foram efetivadas no primeiro semestre do ano,
conforme especificado.
Promoo do curso Gesto da Qualidade do Ar em Centros Urbanos, em
cooperao tcnico/financeira com o Banco Mundial.
Parceria com o Frum de Desenvolvimento Local Integrado Sustentvel / DLIS.
Parceria com o Frum Lixo e Cidadania para promover a sensibilizao dos
diversos segmentos da sociedade para a problemtica que envolve o aumento
acelerado e locais no apropriados para a deposio do lixo.
495
Parceria com o Projeto Naym (GDS), voltado para os remanescentes de reas
quilombolas, e objetivando a promoo de melhorias infra-estruturais,
educacionais e de sade.
Parceria com a INFRAERO, para a implantao
do programa de coleta seletiva no aeroporto
Internacional Cunha Machado.
Parceria com o Ministrio do Meio Ambiente,
para estruturao das pr-conferncias infanto-
juvenil e adulta pelo meio ambiente: Vamos
cuidar do Brasil.
Execuo de oficinas/palestras sobre educao
ambiental em escolas das redes pblica e particular.
Realizao de trilhas educativas, com alunos das redes pblica e particular de
ensino, no Parque Estadual do Bacanga.
Ampla parceria para elaborao do Frum Internacional de Meio Ambiente.
Implantao de Gs Natural
Em 25 de junho de 2002, o Governo do Estado criou a Companhia Maranhense de
Gs GASMAR, uma empresa de economia mista que a responsvel pela
distribuio de gs natural de petrleo no Estado.
A Gasmar tem como acionistas o Governo do Estado, Petrobrs Gs S.A. e C. S.
Participaes, e foi instituda pela Lei Estadual n 7.595, de 11 de junho de 2001,
tendo autonomia administrativa e financeira, e sendo regida por estatuto social, pela
Lei de Sociedade por Aes e suas atualizaes, bem como pelas demais
disposies legais que lhe forem aplicveis.
Tem como objetivo social a explorao, com exclusividade, do servio de
distribuio e comercializao de gs canalizado, podendo tambm explorar outras
formas de distribuio de gs natural e manufaturado, inclusive comprimido ou
liquefeito, de produo prpria ou de terceiros, nacional ou importado, para fins
comerciais, industriais, residenciais, automotivos, de gerao termeltrica ou
quaisquer outras finalidades e usos possibilitados pelos avanos tecnolgicos, em
todo o territrio do Estado do Maranho.
Essa ao importante, pois o Maranho se apresenta como segundo potencial de
consumo da Regio Nordeste, e tem perspectiva de tornar-se um grande produtor de
gs natural.
Desenvolvendo a Pesca e a Aqicultura
A Agncia de Desenvolvimento da Pesca e da Aqicultura ADEPAQ foi criada
em 31 de janeiro de 2003 com o objetivo de formular polticas e diretrizes para o
desenvolvimento e o fomento da produo pesqueira e aqcola e, especialmente,
promover a execuo e a avaliao de medidas, programas e projetos de apoio ao
496
desenvolvimento do setor pesqueiro estadual. Nestes primeiros meses, a ADEPAQ
est se estruturando, se instalando e conhecendo o cenrio, fazendo contatos,
articulaes e buscando fontes alternativas de recursos em ministrios, embaixadas,
institutos etc.
Tem tambm se dedicado elaborao de planos, programas e projetos para uma
execuo pautada em bases slidas de planejamento. Destaca-se a execuo do
ZONEAMENTO ECOLGICO/ECONMICO COSTEIRO DO ESTADO DO
MARANHO, em andamento, elaborado por pesquisadores da UFMA e UEMA,
tornando-se o primeiro passo para o disciplinamento da atividade econmica da
aqicultura na faixa costeira e nas reas de influncia de mars das bacias
hidrogrficas maranhenses. O Zoneamento ser um importante instrumento de
deciso para os rgos de meio ambiente, nos processos de licenciamento
ambiental, e representa um marco decisivo e estratgico do Maranho, coerente
com a orientao do Governo de promover o desenvolvimento do Estado de forma
sustentvel.
Fonte: http://www.ma.gov.br/cidadao/
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ma3.html
constitudo por duas unidades, Baixada Litornea e Planalto.
A Baixada Litornea, segue o litoral maranhense predominando as colinas e
tabuleiros, atingindo em alguns pontos, como na Ilha de So Luis, a linha da costa.
Em outras reas as pequenas elevaes so separadas do mar por terrenos baixos
e planos, facilmente inundveis nas pocas chuvosas.
Os chamados lenis maranhenses so formados por terrenos arenosos com vrias
dunas, situando-se a leste do fundo do golfo.
As demais reas, incluindo o interior abrangem o planalto. Ocorre um aumento
gradativo de altitudes em direo ao sul podendo ultrapassar 600 metros.
Recebendo vrios nomes na localidade, entre eles, Serra da Desordem, dos
Penitentes, da Cinta, da Canela e das Alpercatas alm da Chapada das
Mangabeiras; o Planalto cortado por vales, apresentando em sua poro noroeste
reas da chamada Amaznia Maranhense.
Hidrografia
A maioria dos rios maranhenses pertencem a bacia do Norte e Nordeste, seguindo
em direo ao oceano Atlntico; ocupa uma rea de 981.661,6 km
aproximadamente. Fazendo fronteira com o estado do Piau est o rio Parnaba,
maior rio do estado e integrante da bacia Norte e Nordeste.
Outros rios merecem destaque na regio, o Gurupi (fronteira com o Par), o Turiau,
o Pindor (468 km), o Mearim (966 km), o Itapicuru (1.090 km), o Munim e o
Tocantins ao sul (fronteira entre Maranho e Tocantins).
497
Litoral: caracteriza-se por ser bastante recortado e pelos vrios acidentes
orogrficos no sentido oeste-leste entre eles: ilha Dois Irmos, ilha da Traura, ponta
da Mutuoca, baa de Turiau, ilha So Joo, ilha Campelo, baa de Manguna, baa
de Cum, baa de So Marcos, ilha de So Luis, baa de So Jos, ilha de Santana,
baa de Tutia e ilhas Grande, do Paulino e do Caju situadas no delta do Parnaba.
o segundo maior litoral em extenso (640km).
Clima
Por estar localizado entre as regies amaznica e nordeste, e tambm pela
extenso no sentido norte-sul, o estado apresenta diferenas climticas e
pluviomtricas.
A oeste domina o clima tropical quente e mido (As), tpico da regio amaznica. As
secas so reduzidas, prevalecendo as chuvas que ocorrem em nveis elevados
durante todo o ano praticamente, superando 2.000mm/ano.
O restante do estado marcado por clima tropical quente e semi-mido (Aw), com
as chuvas ocorrendo durante o vero sendo o inverno seco. As chuvas nesta poro
so reduzidas a 1.250mm/ano, e menos ainda a sudeste - mil milmetros anuais.
As temperaturas em todo o Maranho so elevadas, com mdias anuais superiores
a 24C, ao norte chega a atingir 26C.
Vegetao
Trs variaes vegetacionais podem ser verificadas:
Campos: ocorrem nos terrenos inundveis da Baixada Litornea, caracterizando-se
por apresentar vegetao rasteira e alguns arbustos isolados
Cerrados: domina a poro sul e leste; gramneas e pequenas rvores compem a
paisagem
Florestas: dividem-se em dois grupos no estado
- resqucios de floresta amaznica a oeste; rvores de grande porte e vegetao
densa
- mata de transio no centro-norte; apresenta vrias palmeiras em especial babau
consorciadas com espcies da floresta amaznica.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ma4.html
O estado do Maranho caracteriza-se por apresentar resqucios das colonizaes
fundadoras - franceses, holandeses e portugueses - estes deixaram suas marcas
tanto na arquitetura, na cultura, na literatura e demais aspectos locais.
498
Na arquitetura, chamam a ateno dos turistas que por l passam, os casares
antigos com suas fachadas recobertas por azulejos, influncia da colonizao
portuguesa, conferindo o ttulo de Cidade dos Azulejos So Luis.
Os aspectos culturais do estado mostram-se bastante ricos. Diversas festas
populares remontam o folclore local; Bumba-meu-boi - combina msica, dana e
teatro mesclando elementos da cultura indgena, africana e luso-brasileira, Folias do
Divino, Reisados, Lapinhas, Tambor-de-Crioula e o Reggae.
Em termos literrios, grandes nomes da literatura brasileira surgiram no estado que
abrigou, por um perodo , a Frana Equinocial. Gonalves Dias, Raimundo Correia,
Alosio de Azevedo, Coelho Neto, Humberto de Campos, Graa Aranha e Arthur de
Azevedo so filhos da terra, conhecidos nacional e at mesmo internacionalmente
por suas obras.
No poderia deixar de ser lembrada a gastronomia regional, esta tambm com
influncias - africana, indgena e portuguesa. Pratos exticos como o Cux, outros
feitos a base de peixes e frutos do mar (camares, caranguejos, siris e sururus),
acompanhando sucos, doces, cremes, licores de bacuri, cupuau, murici, caj,
sapoti, aa, buriti, jenipapo e graviola.
A riqueza de paisagens naturais, e os diversos ecossistemas (floresta tropical mida,
dunas, praias, manguezais, deltas, recifes, caatinga e cerrado) presentes no estado
o potencializam como opo ecoturstica, preservando o meio ambiente de uma
maneira sustentvel. So 640 quilmetros de praias, unidades de conservao,
reas indgenas, observao da fauna e flora, passeio por ilhas, igaraps,
manguezais, mergulho, cachoeiras e a prtica de ecoesportes esto a disposio do
turista no Maranho.
Atrativos para todos os gostos existem nas terras maranhenses, como:
Praia Grande Largo do Palcio Cais da Sagrao
Palcio dos Lees Catedral da S Igreja do Carmo
Museu das Artes Visuais Museu de Arte Popular
Teatro Arthur
Azevedo
Fonte do Ribeiro Feira da Praia Grande Praia do Calhau
Ponta da Areia Forte Santo Antonio
Forte de So
Marcos
Praia da Araaji
Parque Nacional dos Lenis
Maranhenses
Base de Alcntara
Delta das Amricas Floresta dos Guars Chapada das Mesas
Cachoeira de Santa
Brbara
Cachoeira de Itapecuruzinho
Todos estes atrativos tursticos constituem-se em fonte de desenvolvimento
econmico para o estado.
499
PARABA
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/ind
ex.html&conteudo=./estadual/pb.html
Histria, Povoamentos e Colonizao
Devido a presena de franceses na regio, a colonizao portuguesa enfrentou
dificuldades para se fixar. Joo Tavares construiu em 1585, na foz do rio Paraba, o
Forte So Felipe como forma de defesa aos ataques franceses. Os holandeses por
sua vez, tomaram a regio em 1634 e ali permaneceram por 20 anos sendo
expulsos por Andr Vidal de Negreiros. Batalhas com os ndios ocorriam em paralelo
aos confrontos com estrangeiros.
A Revoluo Pernambucana de 1817 e a Confederao do Equador em 1824
tiveram a participao ativa dos paraibanos, em ambos os movimentos os revoltosos
saram derrotados.
O assassinato do candidato a vice-presidente da Repblica, Joo Pessoa de
Albuquerque, foi um dos pretextos para que a Revoluo de 1930 fosse
desencadeada.
Localizao e rea Territorial
Com uma populao estimada em 3.436.716 habitantes, o estado da Paraba ocupa
56.584.6 km de rea territorial brasileira englobando 223 municipios.
Est situado no extremo leste da regio Nordeste do Brasil. Tem 98% de seu
territrio inserido no Polgono da Seca. Faz limites:
Norte: Rio Grande do Norte
Sul: Pernambuco
Leste: Oceano Atlntico
Oeste: Cear
Cidades mais populosas - Joo Pessoa (capital), Campina Grande, Santa Rita,
Patos, Bayeux e Souza.
500
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pb1.html
501
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rpb.html
502
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pb2.html
Governador: Cssio Rodrigues da Cunha Lima
Vice-governadora: Maria Lauremlia Assis de Lucena
Fone: (0xx83) 216-8015 / 218-4134
Fax: (0xx83) 244-5088 / 218-4143
Secretaria da Cidadania e Justia
Antonio Vital do Rego (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco II 4 andar
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4450 / 4461
Fax: (0xx83) 218-4462 / 4451
Secretaria de Finanas
Luzemar da Costa Martins (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco IV 4 Andar
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4713 / 4715
Fax: (0xx83) 218-4882
Secretaria da Agricultura, Irrigao e Abastecimento
Francisco de Assis Quintans (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco II 3 Andar
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4262 / 4263
Fax: (0xx83) 218-4262
Secretaria de Segurana Pblica
Noaldo Alves Silva (secretrio)
Av. Hilton Souto Maior, s/n
CEP: 58.055-460
Fone: (0xx83) 238-5583 / 213-9003
Fax: (0xx83) 238-5522
Secretaria de Educao e Cultura
Neroaldo Pontes de Azevedo (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco I 6 Andar
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4002 / 4545
Fax: (0xx83) 218-4001
Secretaria de Infra-estrutura
Jos Domiciano Cabral (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco III - 1 Andar
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4647 / 4648
Fax: (0xx83) 218-4647
503
Secretaria de Sade
Jos Jocio de Arajo Morais (secretrio)
Av. Dom Pedro II, 1826 - Torre
CEP: 58.040-440
Fone: (0xx83) 218-7428 / 7485
Fax: (0xx83) 218-7422
Secretaria de Administrao
Misael Elias de Morais (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco III 6 Andar
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4600 / 4537
Fax: (0xx83) 218-4691
Secretaria de Planejamento
Fernando Rodrigues Cato (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco IV 6 Andar
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4825
Fax: (0xx83) 218-4824
Secretaria do Trabalho e Ao Social
Armando Abilio Vieira (secretrio)
Rua Desembargador Souto Maior, 288
CEP: 58.013-190
Fone: (0xx83) 241-1309 / 7612
Secretaria da Indstria, Comrcio, Turismo, Cincia e Tecnologia
Joo da Mata de Souza (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco II 1 Andar
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4400 / 4401
Fax: (0xx83) 218-4402
Secretaria de Controle da Despesa Pblica
Severino Ramalho Leite (secretrio)
Rua Duque de Caxias, 610
CEP: 58.010-000
Fone: (0xx83) 211-6738
Fax: (0xx83) 211-6745
Secretaria Extraordinria do Meio Ambiente, Recursos Hdricos e Minerais
Marilo Costa (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco II - 2 Andar
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4371 / 4545
Fax: (0xx83) 218-4370
E-mail: semarh@semarh.pb.gov.br
Secretaria Extraordinria de Comunicao Institucional
Larcio de Medeiros Cirne (secretrio)
Centro Administrativo, Bloco II - 6 Andar
504
CEP: 58.019-900
Fone: (0xx83) 218-4314 / 4487
Fax: (0xx83) 218-4314
Secretaria do Esporte e Lazer
Fbio Lucena (secretrio)
Rua Desembargador Souto Maior, 288
CEP: 58.013-190
Fone: (0xx83) 241-1309 / 7612
Fax: (0xx83) 218-6634
Secretaria do Acompanhamento de Gesto
Antonio Nominando Diniz Filho (secretrio)
Rua Desembargador Souto Maior, 288
CEP: 58.013-190
Fone: (0xx83) 241-1309 / 7612
Fax: (0xx83) 218-6634
rgos Ambientais
- Laboratrio de Meteorologia, Recursos Hdricos e Sensoriamento Remoto da
Paraba - LMRS Paraba
Patrice Rolando (coordenador)
Rua Aprgio Veloso, 882 - Bodocong
CEP: 58.109-970
Fone: (0xx83) 333-2355
Fax: (0xx83) 333-2035
E-mail: webmaster@lmrs-semarh.ufpb.br
- Superintendncia de Administrao do Meio Ambiente - SUDEMA
Jos Ernesto S. Bezerra (diretor)
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 181 - Tambi
CEP: 58.020-540-
Fone: (0xx83) 218-5602 / 5609
E-mail: e.souto@sudema.pb.gov.br
Outorga de guas
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pb_aguas.html
Outorga um instrumento que assegura ao interessado o direito de utilizar a gua
de uma determinada fonte hdrica, com uma vazo e finalidade determinadas e por
um perodo definido.
A outorga de direito de uso da gua e a licena para construo de obra hidrulica
esto disciplinadas pela Lei n 6 308/97 que institui a Poltica de Recursos Hdricos e
pelo Decreto n 19.260/97, que regulamenta a outorga de direito de uso dos
recursos hdricos.
505
Obrigao
Usos de gua que Dependem de Outorga:
Abastecimento humano.
Irrigao.
Piscicultura.
Usos industriais e comerciais.
Lanamento de esgotos em corpos dgua para fins de diluio, transporte, e
assimilao.
Outros tipos de uso que alterem o regime, a quantidade e a qualidade dos recursos
hdricos.
Empreendimentos Dispensados de Outorga:
Captaes diretas em fontes superficiais ou subterrneas, com consumo de at
2.000 l/h.
No sero expedidas outorgas para:
Lanamento em corpos dgua de resduos slidos, radioativos, metais pesados e
outros resduos txicos.
Lanamento de poluentes em guas subterrneas.
Requerimento devidamente preenchido.
Cpia xerox autenticada da escritura ou outro documento que comprove a posse
legal do imvel.
Mapa de localizao do empreendimento, com estradas de acesso,
preferencialmente a partir de folha da SUDENE, escala 1:100.000.
Projeto tcnico, assinado por profissional habilitado junto ao CREA.
Local e tramitao
O pedido de outorga do direito de uso de guas ser processado perante a
Secretaria Extraordinria do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e Minerais.
A Secretaria Extraordinria do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e Minerais
ter prazo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre a outorga, sendo-lhe facultado
ouvir previamente o Comit de Bacia Hidrogrfica respectivo.
Secretaria Extraordinria do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e Minerais
Av Joo da Mata, 400 Jaguaribe CEP 58 015 020 Joo Pessoa PB
Tel: (83) 221 53 30
Fax:(83) 221 51 29
506
Coordenadoria de Gesto de Recursos Hdricos
Al. Srgio Dantas, 13 Jaguaribe
CEP 58 888-000 Joo Pessoa PB
Tel: (83) 241 87 62
Fax: (83) 241 87 59
Fonte: Secretaria Extraordinria do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e
Minerais Governo da Paraba.
Projetos e Programas Ambientais
Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA II
O Programa Nacional do Meio Ambiente PNMA II, direcionado para o
aperfeioamento da gesto ambiental do Pas, nas esferas federal, estadual e
municipal, visando resultados efetivos na melhoria da qualidade ambiental e,
consequentemente, uma maior qualidade de vida para a populao brasileira.
Estrutura do Programa
O PNMAII ser executado de forma descentralizada, sendo que a participao no
Programa aberta a todas as Unidades da Federao. A execuo dever envolver
os governos estaduais e prefeituras municipais, alm de parcerias com organizaes
no governamentais, setor privado e instituies acadmicas, entre outros. O
Programa financiado atravs de acordo de emprstimo entre o Governo Brasileiro
e o Banco Mundial e planejado para ser implementado, sob a Coordenao do
Ministrio do Meio Ambiente - MMA, em trs fases sucessivas ao longo de 10 anos.
O PNMA II, est estruturado em dois componentes:
a) Desenvolvimento Institucional
O Componente Desenvolvimento Institucional tem por objetivo o fortalecimento dos
rgos estaduais de meio ambiente na utilizao de instrumentos essenciais para o
processo de gesto ambiental no pas. Os instrumentos a serem trabalhados no
mbito do Componente so:
Licenciamento Ambiental
Monitoramento da Qualidade da gua
Gerenciamento Costeiro
b) Gesto Integrada de Ativos Ambientais
Planejado para ser implementado sob a Coordenao do Ministrio do Meio
Ambiente - MMA, a estratgia de execuo do programa est dividida em trs fases,
com estimativa de execuo para um perodo de 10 anos. A primeira fase, com
durao de 3 anos, inicia-se com a identificao e priorizao de problemas
ambientais em cada Unidade da Federao, cujos resultados devero subsidiar a
formulao de projetos do componente Gesto Integrada de Ativos Ambientais.
Objetivo
O objetivo geral do Programa estimular a adoo de prticas sustentveis entre os
diversos setores cujas atividades impactam o meio ambiente e contribuir para o
507
fortalecimento da infra-estrutura organizacional e de regulamentao do poder
pblico para o exerccio da gesto ambiental no pas, melhorando efetivamente a
qualidade ambiental e gerando benefcios socioeconmicos.
Mecanismos de Coordenao
A Coordenao do Programa est estruturada em dois nveis: um nacional (Unidade
de Coordenao Geral - UCG) , no Ministrio do Meio Ambiente, e outro estadual
(Unidade de Coordenao Estadual - UCE), no caso da Paraba, na Secretaria
Extraordinria do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e Minerais, tendo como
rgo executor, a Superintendncia de Administrao do Meio Ambiente - SUDEMA.
Situao do PNMAII na Paraba
Em atendimento dinmica de implantao deste Programa, especificamente no
componente Gesto Integrada de Ativos Ambientais do PNMA II foram realizadas
diversas discusses com tcnicos da SEMARH e da SUDEMA, em conjunto com
representantes do MMA e consultores contratados para este fim, com vistas a
analisar as prioridades ambientais e definir reas potenciais (ver mapa) para os
projetos estaduais de gesto integrada do Estado da Paraba, cujos resultados esto
contidos no documento "Prioridades Ambientais do Estado da Paraba".
Quanto ao Subcomponente Licenciamento Ambiental, foi desenvolvido projeto para
o fortalecimento do Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado do Paraba -
SELAP, envolvendo o desenvolvimento de instrumentos e mecanismo para
organizao e agilizao de procedimentos de gesto ambiental; aumento da
sustentabilidade do SELAP; implementao para desempenho mais eficiente das
aes de fiscalizao; concepo, experimentao e implementao de estratgia
de descentralizao; organizao de SIG (Sistema de Informaes
Georeferenciadas) em interface com banco de dados abrangendo informaes de
carter tcnico e gerencial. Foi escolhido como rea piloto, os municpios de Conde,
Alhandra, Pedras de Fogo, Pitimb e Caapor.
Os Subcomponentes Monitoramento da Qualidade da gua e Gerenciamento
Costeiro sero objetos de estudos posteriores, conforme determinao da Unidade
de Coordenao Geral.
Unidade de Coordenao Estadual
Coordenador Geral
Maria Madalena Germano (SUDEMA)
e-mail: madalena@sedema.pb.gov.br
Fones: (83) 218-5592
Coordenador Sub-Componente Licenciamento Ambiental
Antonio Mousinho Fernandes Filho (SUDEMA)
e-mail: mousinho@sedema.pb.gov.br
Fones: (83) 241-6959
508
Unidades Estaduais de Conservao
As Unidades de Conservao so pores do territrio nacional, incluindo as guas
territoriais, com caractersticas naturais de relevante valor, de domnio pblico ou de
propriedade privada, legalmente institudas pelo Poder Pblico com objetivos e
limites definidos, sob regimes especiais de administrao, os quais aplicam-se
garantias de proteo.
Cada Unidade de Conservao recebe o manejo ambiental adequado para
assegurar suas caractersticas naturais, ou seja: manter a diversidade natural,
conservar os recursos genticos e hdricos, favorecer a pesquisa cientfica, manejar
os recursos florestais, promover a educao ambiental, o lazer, assegurar a
qualidade ambiental e o crescimento econmico regional.
A SEMARH atravs da SUDEMA vem ampliando a cada dia o seu trabalho nas
Unidades de Conservao. Isto significa a preservao do que temos de mais
relevante em termos paisagsticos, belezas cnicas e recursos naturais, almejando o
desenvolvimento sustentvel. Atualmente a Paraba conta com oito Unidades
Estaduais de Conservao, sendo quatro parques, duas reservas ecolgicas, um
monumento natural e um jardim botnico.
Unidades de Conservao do Estado da Paraba
Nome
rea
(ha)
Documento
de Criao
Data Municpio Bioma
Reserva Ecolgica Mata do
Pau-Ferro
607,0
Decreto N.
14.832
19/10/92 Areia
Mata
Atlntica
Reserva Ecolgica Mata do
Rio Vermelho
1.500,0
Decreto N.
14.835
19/10/92 Rio Tinto
Mata
Atlntica
Parque Pico do Jabre 500,0
Decreto N.
14.834
19/10/92
Matureia e
Me D'gua
Mata
Atlntica
Monumento Natural Vale
dos Dinossauros
40,0
Decreto N.
14.833
19/10/92 Souza Caatinga
Parque Estadual Pedra da
Boca
157,3
Decreto N.
14.889
07/02/00 Araruna Caatinga
Parque Estadual Marinho
de Areia Vermelha
Decreto N.
21.263
07/02/00 Cabedelo
Jardim Botnico Benjamim
Maranho
329,4
Decreto N.
21.264
07/02/00 Joo Pessoa
Mata
Atlntica
Parque Estadual da Mata
do Xm-Xm
182
Decreto N.
21.262
07/02/00 Bayeux
Mata
Atlntica
reas com Potencias para criao de Novas Unidades de Conservao
A Paraba possui uma grande diversidade de paisagens distribudas entre reas
midas (Manguezais, Cerrado, Mata da Restinga, Mata Atlntica, Brejos de Altitudes
e Matas Serranas) e reas semi-ridas, com cobertura florestal de caatinga,
509
apresentando uma estratificao entre a caatinga arbrea fechada das serras
caatinga arbustiva aberta.
Aps a concluso do mapeamento e diagnstico florestal a estado vem selecionando
reas que apresentam potencialidades para a criao de novas Unidades de
Conservao dentre elas j em face de levantamentos de campo e estudos
encontram-se selecionadas as seguintes reas
Parque do Cabo Branco - Joo Pessoa
Mata da Usina So Joo - Santa Rita
Mata do Triunfo - Joo Pessoa
Mata Engenho Socorro - Areia, Alagoa Grande
Mata de Cabedelo - Cabedelo
Stio Arqueolgico de Pai Mateus - Boa Vista
Mata do Jacarap - Joo Pessoa
Mata do Arat - Joo Pessoa
Mata do Aude dos Reis - Santa Rita
Pedra do Ing - Ing
Fazenda Junco - Areia
Fazenda Lagoa da Cruz - Remgio
Mata da Jussara - Areia
Fazenda Craibeiras - B. de Santa Rosa
Fazenda Riacho da Cruz - B. de Santa Rosa
Mata de Monteiro - Monteiro
Serra do Jabitac - Monteiro (nascente do rio Paraba)
Serra dos Sucurus - Sum
Serra Branca - Serra Branca
Serra do Caturit - Boqueiro
Serra Santo Antonio - Pianc
Mata Esc. Agrcola de Souza
Fazenda Pedra Cumprida - Sum
Mata de Mangabeira - Joo Pessoa
rea de Proteo Ambiental Tambaba - Conde
rea de Proteo Ambiental das Onas - So Joo do Tigre
Reserva Ecolgica Estadual de Goiamunduba Bananeira
Zoneamento Ecolgico Econmico do Estado da Paraba
O Zoneamento Ecolgico e Econmico do Estado da Paraba objetiva nortear uma
poltica para desenvolver a regio dos Cariris Paraibano, atravs da ordenao
territorial e preservao dos recursos naturais. Alm dessas atividades, o ZEE
tambm vai elaborar e executar estudos integrados dos recursos naturais, visando o
desenvolvimento sustentvel, e evitando o xodo rural e o processo de
desertificao que se instala na sub-regio.
Caractersticas do Estado da Paraba
510
O Estado da Paraba possui 56.372 Km, distribudos entre 223 municpios. Situa-se
entre as Coordenadas Geogrficas de 6 02' 12' e 8 19' 18' Lat. Sul e 34 45'45' de
Long. Oeste.
um dos menores estados do Brasil, porm com uma notvel variao de paisagem
natural.
Rios perenes e intermitentes; vegetao que varia desde aS formaes florestais at
a caatinga herbcea; relevo marcado por plancies, planaltos, serras e vales.
Esta diversidade natural, excita a diferentes formas de uso, levando a uma
convivncia nem sempre pacfica entre prticas convencionais e modernas.
O quadro scio-econmico marcado pela pobreza absoluta na maior parte da
populao paraibana.
A rea escolhida como prioritria para iniciar o ZEE, est inserida na regio semi-
rida do estado, envolvendo duas microrregies; o Cariri Oriental e Cariri Ocidental,
totalizando 25 municpios.
Os Cariris Paraibanos
Os Cariris paraibanos ocupam uma rea de 1.124.080 hectares, abrangendo 25
municpios. Constitui-se de uma poro expressiva da Zona Semi-rida do Estado,
podendo ser chamada de uma sub-regio, com clima, solos e vegetao tpicos do
Semi-rido, tradicionalmente dedicada produo de algodo, sisal, milho e feijo.
Conta, por outro lado, com uma produo pecuria, economicamente importante,
especificamente, de bovinos de leite e corte, caprinos e ovinos deslanados.
Local: Serra Branca.
Caatinga Antropizada. Cariris Paraibanos, regio
inserida para o zoneamento ecolgico econmico.
As atividades agrcolas, caracterizam-se no geral pelo baixo nvel tecnolgico, salvo
alguns pequenos projetos de irrigao onde so explorados hortalias como o
tomate e o pimento.
511
A rede hidrogrfica, como em qualquer regio, semi-rida, carente de cursos
d'gua permanentes. O principal curso d'gua o Rio Paraba com a bacia do Rio
Tapero que percorre quase toda a sub-regio.
Local: Serra Branca.
Relevo Residuais da rea dos cariris.
Com relao aos recursos minerais, nesta poro existe a maior concentrao das
ocorrncias minerais do Estado de Caulim e Sheelita.
Devido a grande riqueza de recursos existentes nos Cariris Paraibanos, o projeto de
Zoneamento Econmico e Ecolgico do Estado da Paraba pretende conservar e
preservar a rea e a relao homem-natureza.
Local: So Joo do Cariri.
Leito do Rio Paraba, intermitente, no qual a
populao ainda utiliza-se de pequenas cacimbas.
Fonte: Secretaria Extraordinria do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e
Minerais (http://www.paraiba.pb.gov.br/)
512
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pb4.html#relevo
Divide-se em trs unidades distintas seguindo no sentido litoral-interior.
Baixada Litornea: est presente ao longo da costa formando uma faixa com cerca
de 80 a 90km de largura, em mdia com altitudes que variam entre 0 e 10 metros,
algumas formas de relevo mais comuns esto presentes.
Praias: situam-se junto a embocadura dos rios que seguem para o Atlntico;
tratam-se de depsitos arenosos ou terras de vrzeas.
Restingas: depsitos arenosos em forma de flexa ou lngua.
Dunas: acmulos de areia formados pela ao dos ventos.
Mangues: plancies de mars cuja vegetao formada por rvores e arbustos
em sua maioria com razes areas.
Fazendo parte ainda da baixada litornea, esto os tabuleiros. Formaram-se pelo
acmulo de terras provenientes de lugares mais altos sendo altamente frteis. Suas
altitudes so variveis, de 20 a 30 metros e em alguns pontos chegam at 200
metros.
Planalto da Borborema: ocupa a parte central do estado, a oeste da Baixada
Litornea, mais precisamente cruzando de Nordeste a Sudeste o territrio. Trata-se
da rea mais elevada do estado com presena de vrias serras, suas altitudes
variam entre 500 e 650 metros. Araruna, Virao, Caturit, Comissria, Teixeira
(abriga o Pico do Jabre, ponto mais elevado com 1.090m de altitude) entre outras
exemplificam.
Planalto do Rio Piranhas: compreende-se no espao entre a Borborema e a
fronteira com o Cear tendo incio na localidade de Patos, aps a serra da Virao.
Observa-se neste planalto alguns morros isolados e pequenas serras, contudo,
uma regio de terras baixas tambm conhecida como depresso sertaneja.
Hidrografia
Dois grupos de rios formam a hidrografia paraibana.
Primeiro: rios que descem da Borborema seguindo para leste (oceano Atlntico).
Principais rios Curimata, o Mamanguape e o Paraba do Norte.
Segundo: formado pelo rio Piranhas e seus afluentes (Peixes, Espinhara entre
outros).
Um dos grandes problemas da regio so as secas, pois os rios locais, em sua
maioria tm seus cursos interrompidos (principalmente no serto) voltando ao seu
curso normal durante a estao chuvosa.
Uma das formas encontradas para suprir a seca na Paraba foi a construo de
audes. Vrios rios tiveram seus cursos alterados e/ou interrompidos, como por
513
exemplo, o rio Piranhas interligando So Jos de Piranhas e de So Gonalo
representando 300 milhes de metros cbicos.
Litoral: apresenta alguns acidentes orogrficos como baa da Traio, ponta
Mananguape, ponta da Lucena, ilha da Restinga, ponta Santo Antonio, ponta do
Beca, cabo Branco (extremo leste do Brasil e da Amrica do Sul) e ponta de Mato
Grosso.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pb6.html
Graas a privilegiada localizao geogrfica, o estado apresenta opes tursticas
do litoral ao serto convidando a todos para conhecer seu mar de guas mornas, os
rios de cursos sinuosos e a exuberante mata atlntica presente na poro mais
oriental das Amricas.
Casarios coloniais, templos barrocos, inscries rupestres na Pedra do Ing,
pegadas de dinossauros, stios arqueolgicos, as tradies folclricas das diversas
regies, Cariri - Agreste, Borborema e Ilha de Areia Vermelha constituem-se em
opes ao visitante.
Tambm a alegria do povo e dos ritmos nordestinos atraem turistas do mundo todo
para l, festas populares, como as festas juninas que duram um ms inteiro, o
carnaval, as micaretas unindo litoral e interior, realizando uma imensa troca de
costumes e culturas sem esquecer da peculiar hospitalidade paraibana.
Aspectos naturais como falsias, dunas, esturios, restingas, manguezais, reas de
mata atlntica, os 138 quilmetros de praias entre outros atrativos espalham-se por
entre os vrios plos de turismo criados no estado.
- Plo Turstico de Joo Pessoa
Formado pelos municpios de Joo Pessoa, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita.
Em Joo Pessoa, capital do estado, destacam-se as belas praias do litoral; a cidade
propriamente dita com seus 400 anos e sua arquitetura contempornea; a Micaroa -
carnaval fora de poca , a Folia de Rua antecipando o carnaval contando com vrios
grupos, o maior deles as Muriocas do Miramar; no ms de junho, So Joo da
Lagoa e a Fenart - Festival Nacional de Arte, atraindo inclusive pessoas do exterior.
J em Cabedelo, as manifestaes folclricas, o artesanato e a Fortaleza de Santa
Catarina, palco de batalhas entre portugueses e holandeses, restaurada, hoje
importante ponto turstico.
- Plo Turstico do Litoral Sul
Formado por um conjunto de praias nos municpios de Cabedelo, Joo Pessoa,
Conde e Pitimbu.
Cabedelo destaca-se pela riqueza em manifestaes folclricas e artesanato.
Detentora das mais belas praias do nordeste, Joo Pessoa dispem de boa infra-
estrutura em suas praias (Tamba - com seus recifes e piscinas naturais, Cabo
514
Branco, Manara e Bessa). O municpio de Conde considerado uma vitrine tropical,
com coqueiros, falsias e praias selvagens de areia branca. J Pitimbu, volta-se
prtica dos ecoesportes - surf e mergulho -; suas areias so escuras, de faixa larga e
uma extenso de 10 quilmetros.
- Plo Turstico do Litoral Norte
Formado pelos municpios de Lucena, Rio Tinto, Marcao, Baia da Traio e
Mataraca.
Imperdvel o passeio de jangada para reconhecimento do litoral e dos currais de
peixes; esportes nuticos como mergulho e canoagem, trilhas para percorrer a p,
de bicicleta, moto ou carro. As praias da Pontinha e Holands destacam-se. Baia da
Traio guarda as runas de uma antiga fortaleza defensora do estado; abriga
tambm a nica reserva indgena dos Potiguaras no Brasil. Nesta reserva
comemora-se a Festa do Tor remontando o passado histrico da tribo. Destacam-
se as praias de Cardoas, Tamb, Forte, Trincheira e Coqueirinho; por tradio, o
municpio apresenta um dos carnavais mais animados da regio. Em Mataraca, se
encontra a Barra de Camaratuba, praia primitiva com ondas fortes e propcia para a
explorao do turismo ecolgico; abriga o Parque Municipal Eco-turismo da Barra do
Rio Camaratuba. Entre os municpios de Rio Tinto e Mamaguape est situada a
Reserva Biolgica de Guaribas, a qual conta com infra-estrutura para o turismo de
pesquisa. A prpria cidade com sua arquitetura europia e a Praia de Campinas so
opes de lazer na cidade.
- Plo Turstico de Campina Grande
Formado pelos municpios de Campina Grande, Ing e Cabaceiras.
Campina Grande uma das cidades mais desenvolvidas do nordeste, muito visitada
por estar situada no Planalto da Borborema e pelas suas manifestaes culturais: a
Micarande e o Maior So Joo do Mundo. Quem passa por Ing sempre aprende um
pouco mais. A cidade guarda stios arqueolgicos com inscries da idade da pedra
lascada ou polida; o mais antigo, o de Itacoatiaras, com 5 mil anos
aproximadamente. Seguindo, rumo a Cabaceiras, encontram-se morros de granito,
pequenos lagos e grande blocos rochosos formando cavernas e outras formaes
geolgicas como o Lajedo do Pai Mateus.
- Plo Turstico do Brejo Paraibano
Formado pelos municpios de Areia, Alagoa Grande, Araruna e Bananeiras. Areia
conhecida por seu Festival da Cachaa e Rapadura e por suas construes
histricas, cujos prdios so tombados pelo patrimnio histrico local. Araruna, por
sua vez, tm vocao para o turismo esportivo, de aventura e ecolgico, propiciando
a prtica dos ecoesportes alm de apreciar as belas paisagens. O turista que passar
por Alagoa Grande se depara com vrios atrativos: prdios histricos (Teatro Santa
Ignes, Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, Casares da Rua D. Pedro II),
trilhas e cachoeiras entre outros. No municpio de Bananeiras difunde-se e muito o
turismo religioso rumo ao Cruzeiro ou Outeiro de Roma.
515
- Plo Turstico do Serto
Formado pelos municpios de Patos e Sousa
O municpio de Patos volta-se para o turismo religioso, sendo o santurio Cruz da
Menina o ponto mais visistado da cidade por aqueles que vo pedir ou agradecer
alguma graa, enquanto que Sousa, assim como Ing, guarda importantes stios
arqueolgicos, dentre eles o Vale dos Dinossauros com pegadas pr-histricas de
cerca de 130 milhes de anos, ao todo so 46 metros de pegadas em linha reta.
Culinria
Apresenta-se bastante variada, assim como sua cultura com particularidades
regionais.
Peixes, camares, lagostas, arrumadinho, ensopado de frutos do mar, caranguejo no
coco, carne de sol, buchada, bode guisado, galinha cabidela, queijo de coalho
assado, pamonha, canjica, frutas e sucos de caj, coco, acerola, manga, maracuj,
goiaba, abacaxi e outras mais fazem parte ou acompanham os pratos tpicos da
culinria paraibana.
Artesanato
reconhecido por sua originalidade e qualidade, rendas, bonecas de estopa, objetos
de couro, madeira e sisal, a cermica, todos demonstrando a habilidade e
criatividade da populao com matrias-primas como fibras vegetais, argila e
algodo denotando as caractersticas regionais.
Pontos Tursticos da Paraba
Igreja de So Francisco Convento Igreja Nosa Senhora do Carmo
Parque Solon de Lucena Hotel Globo
Igreja de Nossa Senhora da Guia Baslica de Nossa Senhora das Neves
Faculdade de Direito Parque Arruda Cmara
Praa Venncio Neiva, Pavilho do Ch Vale dos Dinossauros
Casa da Plvora Palcio da Redeno
Theatro Santa Roza Fortaleza de Santa Catarina
Itacoatiaras de Ing
516
ESTADO DO PERNAMBUCO
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/pe.html#historia
Histria, Povoamentos e Colonizao
As terras do atual estado de Pernambuco foram doadas como capitania hereditria
pelo Rei de Portugal a Duarte Coelho em 1535. Dois anos depois, foram fundadas
as vilas de Igarassu e Olinda (primeira capital do estado).
O cultivo da cana-de-acar e algodo trouxeram prosperidade e acabaram por
atrair muitos europeus para a regio.
Com a ocupao dos holandeses (1630 a 1654) Olinda foi incendiada e Recife
passou a ser a sede do domnio holands no Brasil, governado pelo Conde Maurcio
de Nassau. Sua administrao foi marcada por mudanas econmicas, sociais e
culturais. Muitos brasileiros e portugueses de vrias origens (luzitana, africana e
ndia) j cristianizados expulsaram os holandeses de suas terras.
Muitos conflitos marcaram a histria de Pernambuco. Em 1710 a Guerra dos
Mascates comerciantes portugueses contra os senhores de engenho. 1877,
batalhas de cunho separatista. 1817 a Revoluo Pernambucana originou a
Confederao do Equador e por fim, vinte anos mais tarde a Rebelio Praieira com
ideais republicanos que foi sufocada em 1848.
Localizao e rea Territorial
Localizado no centro-leste brasileiro, na regio
Nordeste. Com 184 municpios e o territrio de
Fernando de Noronha, apresenta populao
aproximada de 7.910.992 habitantes em uma
rea correspondente a 98.938 km.
Seu territrio abriga 185 municpios dos quais os
mais populosos so: Recife - a capital, Jaboato
dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Paulista,
Petrolina, Cabo de Santo Agostinho e Vitria de Santo Anto.
517
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pe1.html#mapa
518
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rpe.html
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hpe.html
519
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/ipe.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pe2.html#gov
Governo
Governador: Jarbas Vasconcelos
Palcio do Campo das Princesas
Praa da Repblica, s/n
CEP: 50.010-050
Fone: (0xx81) 3425-2126
Fax: (0xx81) 3424-4670
Vice-governador: Jos Mendona Bezerra Filho
Palcio Frei Caneca
Av. Cruz Cabug, 1211 - Santo Amaro
CEP: 50.040-000
Secretaria de Administrao e Reforma do Estado
Maurcio Costa Romo (secretrio)
Rua Dona Maria Csar, 68
Bairro do Recife, Recife - PE
Cep: 50.030-140
Fone: (0xx81) 3424-1122
Fax: (0xx81) 3424-2795
Site: www.sare.pe.gov.br
Secretaria de Assessoria Especial
Dorany Sampaio (secretrio)
Palcio do Campo das Princesas - Praa da Repblica, s/n
Santo Antnio, Recife - PE
Cep: 50.010-040
Fone: (0xx81) 3425-2279
520
Secretaria de Cincia, Tecnologia e Meio Ambiente
Cludio Marinho (secretrio)
Rua Benfica, 285
Madalena, Recife - PE - Brasil
Cep: 50.720.001
Fone: (0xx81) 3303-8000
Fax: (0xx81) 3303-8024
Site: www.sectma.pe.gov.br
Secretaria de Cidadania e Polticas Sociais
Joo Braga (secretrio)
Av. Rui Barbosa, 1599
Parque Amorim, Recife - PE
Cep: 52.050-000
Fone: (0xx81) 3221-8799
Fax: (0xx81) 3221-0421
Secretaria de Defesa Social
Gustavo Augusto Rodrigues de Lima (secretrio)
Rua So Geraldo, 111
Santo Amaro - Recife - PE - Brasil
CEP: 50.040-020
Fone: (0xx81) 3303-5110
Fax: (0xx81) 3303-5109
Site:www.sds.pe.gov.br
Secretaria de Desenvolvimento Econmico
Alexandre Valena (secretrio)
Rua Montevidu, 220
Boa Vista, Recife - PE
Cep: 50.050-000
Fone: (0xx81) 3231-4367
Fax: (0xx81) 3231-4443
Secretaria de Educao e Cultura
Mozart Neves (secretrio)
Sede da Educao
Rua Siqueira Campos, 304
Santo Antnio, Recife - PE
Cep: 50.010-010
Fone: (0xx81) 3424-1688
Fax: (0xx81) 3224-6263
Site: www.educacao.pe.gov.br
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Terezinha Nunes (secretrio)
Rua Montevidu, 145
Boa Vista, Recife - PE
Cep: 50.050-250
Fone: (0xx81) 3301-7599
Fax: (0xx81) 3301-0553
521
Secretaria da Fazenda
Mozart Siqueira (secretrio)
Rua Imperial, s/n
Santo Antnio, Recife - PE
Cep: 50.010-240
Fone: (0xx81) 3424-2722
Site: www.sefaz.pe.gov.br
Secretaria de Infra-estrutura
Fernando Dueire (secretrio)
Av. Cruz Cabug, 1111
Santo Amaro, Recife - Pe
Cep: 52.040-000
Fone: (0xx81) 3421-5777
Fax: (0xx81) 3421-4328
Secretaria de Planejamento
Jos Arlindo Soares (secretrio)
Rua da Moeda, 46
Bairro do Recife, Recife - PE
Cep: 50.030-040
Fone: (0xx81) 3224-4097
Fax: (0xx81) 3224-7061
Site: www.seplandes.pe.gov.br
Secretaria de Produo Rural
Gabriel Alves Maciel (secretrio)
Av. Caxang, n 2200 - Parque de Exposio do Cordeiro
Cep: 50.711-000
Fone: (0xx81) 3228.1822
Site: www.fisepe.pe.gov.br/sprra
Secretaria de Sade
Guilherme Robalinho (secretrio)
Praa Oswaldo Cruz, s/n
Boa Vista, Recife - PE
Cep: 50.050-210
Fone: (0xx81) 3412-6401 / 6402
Fax: (0xx81) 3412-6369
Site: www.saude.pe.gov.br
rgos Ambientais
-Companhia Pernambucana do Meio Ambiente - CPRH
Edrise Aires Fragoso (diretor-presidente)
Rua Santana, 367
Cep: 52.060-460
Fone: (0xx81) 3341-5877
Fax: (0xx81) 3441-6088
E-mail: cprh@fisepe.pe.gov.br
522
- Companhia Pernambucana de Saneamento COMPESA
- Coordenadoria do Meio Ambiente
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis
IBAMA
- Instituto de Tecnologia do Estado de Pernambuco - ITEP
Projetos e Programas Ambientais
PROMATA
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentvel da Zona da Mata de
Pernambuco (Promata) tem o objetivo de promover a incluso social e estimular o
desenvolvimento da regio a partir de um conjunto de aes integradas nas reas de
sade, educao, infra-estrutura, diversificao econmica e meio-ambiente.
No total, o Promata atende a todos os 43 municpios da regio, beneficiando cerca
de um milho e duzentas mil pessoas. O programa, baseado na linha de ao do
Governo dos Municpios, est aberto participao de toda a sociedade civil,
cidados comuns, associaes, sindicatos, entidades pblicas e privadas e
organizaes no-governamentais.
Para a sua realizao, o Promata conta com um total de US$ 150 milhes, sendo
60% de emprstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o
restante de recursos do Governo do Estado.
O Promata pode financiar aes de:
Fortalecimento da Gesto Municipal e desenvolvimento das organizaes
comunitrias
O objetivo o de modernizar e informatizar as prefeituras e apoiar a melhoria
gerencial das entidades e associaes comunitrias da regio.
Infra-estrutura
O Promata vai garantir o abastecimento d gua e o saneamento em comunidades
da Mata com at 10 mil habitantes. ( cerca de 92 localidades, segundo estudo
prvio). Na rea urbana, o Programa prev investimentos na construo e/ou
reforma de matadouros, mercados pblicos, estradas vicinais e outros.
Educao e Sade
Apoio aos municpios da Zona da Mata na organizao dos seus sistemas de sade,
com nfase na reduo e controle de doenas endmicas, incluindo capacitao e
aquisio de equipamentos para reforar aes de sade da criana, do adolescente
e da mulher. Na educao, investimentos para reduo da defasagem idade/srie,
da taxa de analfabetismo, em especial da faixa de 15 a 24 anos, da melhoria
didtico-pedaggica de escolas rurais e outros.
Diversificao Econmica
Investimentos na pesquisa e na difuso de tecnologia agropecuria (convnio j
firmado com o IPA), e promoo de uma rede de apoio para facilitar o acesso de
pequenos produtores a linhas de crdito agronegcios, agroindstrias e turismo
523
rural. Acompanhamentos, avaliaes e elaborao de planos de negcios para
fortalecer a comercializao do que for produzido na Regio.
Gesto Ambiental
Recuperao de reas crticas do ponto de vista ambiental, reforo proteo de
reservas e mananciais de gua . Implantao de dois postos avanados da CPRH,
um na Mata Norte e outro na Mata Sul. Implantao de sistemas integrados de
resduos slidos ( incluindo aterros sanitrios, usinas de compostagem e outros)
para grupos de municpios.
O Promata oferece um servio de atendimento ao cidado atravs dos Ncleos de
Superviso Local de cada municpio. Informaes e esclarecimento de dvidas
podem ser encontradas tambm pelo telefone - (81) 3221.2053 ou pelo e-mail
promata@promata.pe.gov.br.
Fonte: Governo de Pernambuco (http://www.pernambuco.gov.br/principal.html)
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pe3.html#relevo
Caracteriza-se por apresentar origem sedimentar, sendo formado por trs unidades
distintas, Baixada Litornea, Planalto da Borborema e Depresso Sertaneja, estas
seguindo o sentido leste-oeste. Aliando particularidades como clima e vegetao ao
relevo, surgem as regies geoeconmicas - Zona da Mata (10.000 km), Agreste
(20.000 km) e Serto (68.000 km).
Baixada Litornea
Acompanha a costa litornea constituindo-se em uma faixa de aproximadamente 70
quilmetros de largura. Na poro oeste ocorrem elevaes de 40 a 60 metros de
altura formando tabuleiros, seguindo para o interior, colinas enfileiradas tm suas
altitudes atingindo 200 metros (base da Borborema).
Planalto da Borborema
Ocorre paralelamente ao litoral excetuando a poro sul, onde o planalto se inclina
na direo sudoeste. Suas altitudes ultrapassam 400-500 metros tendendo a elevar-
se ainda mais no sentido oeste (700-800 m).
Em sua extenso de 250 quilmetros, alguns pontos so irregulares, morros e
cristas mostram-se abruptos e pedregosos. O macio de Garanhuns situa-se ao
centro deste planalto, atingindo altitudes superiores a mil metros e servindo como
divisor de guas das bacias que seguem para o Atlntico e dos afluentes do So
Francisco.
Depresso Sertaneja
Est situada a oeste do planalto da Borborema apresentando altitudes que tendem a
decair de 600 para 500 metros. Seus terrenos mostram-se regulares com sucesso
de pequenos vales (500-550m).
524
Algumas excees se fazem presentes nesta unidade. Altitudes superiores a 600
metros entre os rios Moxot e Paje voltando a baixar (250-350m) s margens do rio
So Francisco; ao norte, fronteira com o Cear ergue-se a Chapada do Araripe.
Hidrografia
A exemplo da hidrografia dos demais estados da regio nordeste, os rios
pernambucanos dividem-se em dois grupos:
Rios litorneos: dirigem-se para o oceano Atlntico, destacando-se os rios Goiana,
Capibaripe, Beberibe, Ipojuca, Camarajibe e Una.
Rios Sertanejos: so assim chamados por percorrerem o interior do estado;
compem este segundo grupo os afluentes da margem esquerda do rio So
Francisco (Moxot, Paje, Ipanema e rio do Navio).
Boa parte dos rios pernambucanos so temporrios com exceo de alguns rios da
vertente atlntica e do So Francisco.
Fernando de Noronha
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo
=./snuc/nordeste/pn/noronha.html
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
Regio: Nordeste
Estado: Pernambuco
Municpio: Fernando de Noronha
Bioma: Ecossistemas Costeiros
rea: 11.270 ha
Criao: Decreto 96.693
Unidade de Proteo Integral
Em 1988 o Decreto n 96.693 criou o Parque Nacional
Marinho de Fernando de Noronha, subordinado ao Ibama.
No mesmo ano, a promulgao da Constituinte reintegrou
Fernando de Noronha a Pernambuco.
O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha -
PARNAMAR / FN formado por 2/3 da ilha principal e vai
at onde o mar tiver a isbata de 50 m. Nele esto
includas todas as ilhas secundrias. Sua extenso total
de 112,7 km e tem um permetro de 60 km.
Os objetivos do Parque so proteger as amostras representativas dos ecossistemas
terrestre e marinho, preservar a fauna, flora e demais recursos naturais, proporcionar
oportunidades controladas de visitao, lazer, educao ambiental e pesquisa
cientfica e contribuir para a preservao dos stios histricos.
525
Dentro da rea do PARNAMAR / FN proibido:
1. pescar ou praticar caa submarina e portar materiais prprios para estas
atividades;
2. introduzir animais e plantas; abater, capturar, perseguir e alimentar animais;
3. alterar a vegetao e coletar sementes, razes e frutos; coletar conchas, corais,
pedras, animais vivos ou partes de organismos;
4. mergulhar nas piscinas naturais da baa dos Porcos; descer e mergulhar nas
piscinas do Buraco da Raquel e da ponta das Caracas;
5. visitar a praia do Leo e a baa do Sancho, de janeiro a julho, no horrio das 18 s
6h, devido s desovas de tartarugas marinhas (aruans);
6. nadar e mergulhar com os golfinhos, mesmo fora da baa, e parar embarcaes
nas imediaes da baa dos Golfinhos;
7. parar embarcaes, com exceo da parada para banho na baa do Sancho;
8. jogar lixo, ponta de cigarros e outros detritos;
9. visitar ilhas, ilhotas e rochedos;
10. acampar, pernoitar e fazer fogo na ilha principal;
11. visitar todas as reas de uro restrito, sem autorizao;
12. caminhar sobre os arrecifes das praias de Atalaia e Leo e da baa Sueste;
13. escrever ou pichar em rvores, rochas ou placas;
14. usar nadadeiras, tnis, protetor solar e similares na praia de Atalaia;
15. acesso de embarcaes e veculos no credenciados;
16. praticar mergulho autnomo sem ser atravs de empresas credenciadas.
Trilhas
So cinco as trilhas definidas dentro da rea do Parque, que podem ser visitadas
com autorizao do IBAMA e acompanhamento de condutores credenciados:
Trilhas com autorizao do IBAMA
1. Trilha dos Golfinhos (incio e trmino na Quixaba)
2. Trilha Sancho / Porcos (incio na praia da Cacimba do Padre; trmino na baa do
Sancho).
3. Trilha Capim-au (aberta somente de agosto a fevereiro. Incio e fim na praia do
Leo).
4. Trilha do Farol (ngreme e de percurso longo).
5. Trilha da Pontinha / Pedra Alta (incio na enseada da Caeira e trmino na Vila do
Trinta).
526
A vegetao predominante em Fernando de Noronha composta por espcies
tpicas do agreste nordestino, perdendo sua folhagem na estao seca. Em seu
aspecto geral, a vegetao apresenta rvores nas reas mais elevadas e arbustos
nas superfcies mais planas. As principais espcies arbreas so a Gameleira, o
Mulungu e a Burra Leiteira.
Mata Seca
A Mata Seca, encontrada na Ponta da Sapata, representa 25% de toda a vegetao
de arbustos e rvores da ilha principal do arquiplago. Esta vegetao utilizada
pelas aves marinhas e terrestres para a construo de ninhos. As principais
espcies arbreas e endmicas so: a Gameleira (Ficus noronhae), o Mulungu
(Erythrina auranthiaca) e a Burra Leiteira (Sapium sceleratum).
Mangue
A nica ocorrncia de mangue insular no oceano Atlntico Sul merece ateno
especial e se localiza na baa do Sueste, ocupando uma rea de 1500 m2. Esse
mangue recebe gua da maior bacia de captao da ilha, a do riacho Macei.
Trepadeiras
Denominadas genericamente por "jitiranas", as trepadeiras cobrem arbustos e
rvores nativos no perodo das chuvas. So constitudas de 14 diferentes espcies
vegetais.
Ateno especial
Algumas espcies como as urtigas, o aveloz e a burra leiteira possuem seiva
custica agressiva pele.
Espcies introduzidas
Com o objetivo de prover alimentao para homens e animais, os colonizadores e
moradores atuais, introduziram diversas espcies frutferas. Destacam o caju, o caj
e a pinha. Entre as espcies ornamentais, destacam-se o flamboyant e o ip branco.
FAUNA
Em Fernando de Noronha existem inmeras piscinas naturais que permitem o
contato direto com a variada e extica fauna marinha do arquiplago. As guas das
ilhas esto repletas de peixes, esponjas, algas, moluscos e corais, dentre eles o
mais abundante no arquiplago, o Montastrea cavernosa.
guas rasas
Nas guas rasas encontram-se os peixes coloridos como a donzela de rocas; o
sargentinho; a coroca e tambm as morias.
guas profundas
Nas guas profundas podem ser encontrados o frade; o budio; a ariquita; a pirana
e o borboleta. Os caes, o pacfico lambaru e as arraias podem ser vistas
repousando no fundo.
527
Golfinhos rotadores
Os golfinhos da espcie Stenella longirostris so conhecidos como golfinhos
rotadores devido aos saltos com a rotao do corpo que costumam executar fora da
gua. Estes animais podem atingir at 2 m de comprimento e 90 Kg de peso.
Possuem o dorso cinza-escuro com faixas medianas cinza-claro e o ventre branco.
O perodo de gestao dura aproximadamente 10 meses e meio e o filhote nasce
com 80 cm de comprimento.
Os golfinhos rotadores se distribuem nas zonas tropicais e subtropicais em todos os
oceanos. So gregreos e apresentam um comportamento social bastante
complexo. comum deslocarem-se em grupos compostos por dois at vrias
centenas de indivduos de todas as idade e ambos os sexos.
Em Fernando de Noronha, o mirante da Baa dos Golfinhos um local onde esses
animais podem ser observados em seu ambiente natural. Um dos espetculos mais
bonitos da ilha pode ser observado diariamente ao nascer do sol, quando grupos de
golfinhos rotadores deslocam-se para o interior da baa, uma rea de guas calmas
e protegidas. Utilizam esta rea para o descanso, reproduo e cria, e tarde
deslocam-se para se alimentar de pequenos peixes e lulas em alto-mar. Este o
nico local onde ocorre concentrao de golfinhos rotadores em todo o Oceano
Atlntico. A proibio de circulao de embarcaes e mergulho na enseada foi
estabelecida em 1986 como medida de proteo para que seja possvel a
conservao desses animais. Vale lembrar que a Lei Federal n 7643 estabelece a
proibio caa, captura e molestamento de todas as espcies de cetceos
(golfinhos, botos e baleias) em guas brasileiras.
Tartarugas marinhas
Duas importantes praias de desova das tartarugas aruanas (Chelonia mydas) esto
protegidas pelo Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha: a Praia do Leo
e a do Sancho.
Duas praias de Fernando de Noronha so pontos de desova de tartarugas marinhas.
As tartarugas so observadas a partir de novembro, agrupadas na superfcie da
gua, quando os machos adultos disputam as fmeas, dando incio ao perodo de
reproduo dessa espcie no arquiplago. Durante os meses de chuva (dezembro a
maio) , as fmeas, resguardadas pela temperatura da noite, sobem a essas praias
para depositar os ovos que incubam durante 50 dias.
No ambiente marinho da rea do Parque pode-se, mergulhando, observar jovens e
adultas tartarugas-de-pente (Eretmochelys imbricata), espcie altamente ameaada
devido pesca para a confeco de culos, pentes e bijouterias. A tartaruga-de-
pente utiliza o arquiplago apenas como local de crescimento a alimentao. Sua
origem e suas rotas migratrias so desconhecidas pelos pesquisadores.
O Centro Nacional de Conservao e Manejo das Tartarugas Marinhas TAMAR /
IBAMA desde 1984 zela no arquiplago pelas fmeas, ovos e ambientes de
reproduo e avalia as suas populaes. Esses animais so protegidos por Decreto-
Lei que estabelece a proibio da captura, pesca e molestamento de todas as
espcies de quelnios em guas brasileiras.
FAUNA TERRESTRE
528
Ocorrem em Fernando de Noronha trs espcies endmicas: o passarinho sebito
(Vireo gracilirostris), a lagartixa (Mabuya maculata) e a cobra de duas cabeas
(Amphisbaena ridleyana). O caranguejo (Gecarcinus lagostoma) passa sua fase
juvenil e adulta em terra e faz sua desova no mar.
Animais trazidos pelo homem
Algumas espcies de animais silvestres foram trazidas para o arquiplago pelo
homem. So o teju (Tupinambis teguxim), o moc (Kerodon rupestris) e as ovelhas,
que hoje so criadas em reas restritas para no prejudicarem a flora do
arquiplago.
AVIFAUNA
Existem 40 espcies de aves registradas no arquiplago que abriga as maiores
colnias reprodutivas de aves marinhas entre as ilhas do Atlntico Sul Tropical.
Noronha abriga as maiores colnias reprodutivas de aves marinhas entre as ilhas do
Atlntico Sul Tropical.
Aves nativas
Dentre as aves protegidas pelo Parque Nacional a mais comum a viuvinha (Anous
minutos). Outras aves de grande concentrao no arquiplago so a viuvinha grande
(Anous stolidus), o trinta ris de manto negro (Sterna fuscata) e a viuvinha branca
(Gygis alba).
Em todas as ilhas podem ser encontradas tambm seis espcies de aves parentes
dos pelicanos: o mumbebo branco-grande (Sula dactylatra), o mumbebo marrom
(Sula leucogaster), o mumbebo de patas vermelhas (Sula sula), a catraia (Fregata
magnificens), alm de duas graciosas espcies: o rabo de junco de bico amarelo
(Phaeton lepturos) e o bico vermelho (Phaeton aethreus). Nas matas, vivem o sebito
(Vireo gracilirostris), pssaro insetvoro e frutvoro que j se tornou endmico, o
cucuruta (Elaenia spectabilis reidleyana) e a arriba (Zenaida auriculata noronha).
Aves migratrias
Existe um grupo de aves que visita o Parque: so as migratrias de longo percurso e
em geral provenientes do hemisfrio norte. Essas aves chegam para descansar e se
alimentar. So doze espcies de maaricos e baturas, sendo mais comum o vira
pedra (Arenaria interpress).
Alguns dados:
.: O nico registro de reproduo da pardela-pequena (Puffinus assimilis) ocorre no
arquiplago.
.: O Rabo-de-junco-do-bico-vermelho (Phaethon aethereus) tem 1 metro de
comprimento dos quais 40 cm corresponde a cauda.
.: O Rabo-de-junco-do-bico-laranja (Phaethon lepturus) e Atob (Sula dactylatra)
serviram de alimentao para os presos entre 1870 e 1942.
.: Em junho de 1987, foram contados 10.630 ninhos de Viuvinha-negra (Anous
tenuirostres).
529
.: A cucuruta e o sebito (Vireo glacilirostris) (Elaenia spectabilis ridleyana) so
espcies endmicas.
Fonte: Schulz Neto, Albano. Observando Aves no Parque Nacional Marinho de
Fernando de Noronha: guia de campo. Braslia : IBAMA, 1995.
O grande problema da ilha a ao do homem, atravs da engenharia, da
introduo de espcies e do acmulo de lixo.
O abastecimento de gua depende da captao da chuva, e este um dos fatores
limitantes da presena humana, pois a gua racionada, de acordo com os nveis
do Au de Xaru. A energia eltrica provm do petrleo e tambm sofre controle. Os
visitantes tm de se adaptar s acomodaes das pousadas,que so simples. Os
principais atrativos do parque vm do mar: golfinhos, tartarugas e as guas
cristalinas e profundas do Oceano Atlntico.
A entrada e permanncia na ilha dependem de uma Guia de Encaminhamento do
Visitante e do recolhimento da Taxa de Preservao Ambiental, um valor que recai
progressivamente sobre o nmero de dias em que o visitante permanece em
Fernando de Noronha. A ilha dispe de uma limitada capacidade para receber
pessoas.
O turismo vem se tornando fonte principal de renda. Na sede do parque, h
palestras de segunda a quinta, s 20h30min. Cada noite, h um assunto diferente,
como a histria do parque, golfinhos, Projeto TAMAR, flora, fauna, alm de
abordagens de educao ambiental.
O acesso ilha feito por avio a partir de Recife, Joo Pessoa ou Natal, ou por
barcos pesqueiros, que demoram de 12 a 36 horas.
Fonte: www.noronha.pe.gov.br
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&co
nteudo=./estadual/pe5.html
Pernambuco envolve e seduz seus habitantes e turistas com suas praias de guas
normas, seus rios e, para quem de fora, a hospitalidade e amizade do povo
pernambucano. Alm destes aspectos, a contraposio da arquitetura colonial de
Olinda com arquitetura ps-moderna do Recife, a culinria, o artesanato, seu
extenso litoral, incluindo o arquiplago de Fernando de Noronha e em especial o
carnaval atraem, a cada ano que passa cada vez mais turistas.
Litoral
So 187 quilmetros de extenso, apresentando praias urbanas, desertas e semi-
desertas; de norte a sul so muitas as belezas naturais com sol o ano inteiro, s na
ilha so 16 praias.
Praias do Litoral Sul
530
Pina: praia urbana;
- Boa Viagem: localizada no bairro de mesmo nome, uma das mais bonitas praias
urbanas do pas;
Piedade: praia urbana;
- Candeias: praia urbana com 3 quilmetros de extenso;
- Barra da Jangada: praia tranqila, ideal para o descanso;
- Paiva: praia deserta, de mar aberto; poo de lama negra medicinal nas
proximidades;
- Itapuama: praia de ondas fortes, boa para o surf, porm, proibida pela presena de
tubares;
- Pedra do Xaru: praia com pedras e piscinas naturais abundante em Xaru
(peixe);
- Enseada dos Corais: cercada por arrecifes, de mar tranqilo repleto de piscinas
naturais;
- Gaibu: mar calmo de guas verdes, muito freqentada no vero;
- Calhetas: praia repleta de coqueiros, mar calmo e cristalino cercado por arrecifes,
muito procurada para as prticas de mergulho e pesca submarina;
- Cabo de Santo Agostinho: no se trata de uma praia propriamente dita, mas sim
de mirantes formados por rochas que possibilitam uma boa viso do litoral de Recife
a Porto Suape;
- Paraso: a menor praia do litoral, com uma faixa de areia de 30 metros entre um
paredo de rochas;
- Suape: praia prxima ao Porto de Suape onde as guas do mar encontram-se com
o rio Massangana; em pocas de mar baixa pode-se ver as runas do Forte do
Pontal;
- Camboa: praia deserta de areias claras, coqueiros e barulho do mar que
tranquilizam qualquer pessoa; piscinas naturais podem ser vistas e aproveitadas
com a mar baixa;
- Muro Alto: praia com belas piscinas naturais formadas no centro das dunas;
contornada por um paredo de areia com 3 metros de altura (da seu nome);
- Cupe: praia de mar aberto, com guas esverdeadas, ondas fortes e arrecifes;
- Porto de Galinhas: a mais badalada do estado, com 18 quilmetros de extenso,
guas azuis e mornas, ondas fracas e piscinas naturais;
- Maracape: praia de mar aberto com ondas fortes, sedia etapas do Circuito
Brasileiro de Surf
- Enseadinha: pequena enseada na Barra do rio Maracape; mar calmo, coqueiros,
cajueiros e manguezais formam o visual do local;
- Serrambi: praia de guas azuis, estreita faixa de areia batida e arrecifes em parte
de sua extenso;
- Cacimbas: apresenta mar forte com larga faixa de areias; uma formao rochosa
de 50 metros de largura abriga uma piscina natural;
- Toquinho: considera-se uma praia particular com vrios condomnios de luxo e
casas de veraneio, as quais usufruem das areias brancas e finas da praia com
ondas fortes;
- Barra de Sirinham, Guaiamum e Gamela: fazem parte da mesma enseada.
Situada na barra do Sirinham est a Ilha de Santo Antonio;
531
- Guadalupe: enseada de mar calmo, falsias e pedras a beira mar; os condomnios
de luxo do local dificultam seu acesso;
- Praia dos Carneiros: est localizada onde as guas do rio Formoso e do mar se
encontram; manguezais cercam as areias brancas da praia;
- Tamandar: formada por duas baas, as ondas so fracas sendo bastante
procurada no vero e para a prtica de esportes nuticos, tendo como atrativo a
cachoeira da mata atlntica nas proximidades;
- Boca da Barra: praia de mar calmo com muito sargao e arrecifes;
- Praia do Porto: praia de difcil acesso, porm, os que conseguem chegar at l
so bem recompensados pelo cenrio; pedras que se estendem at o mar formam
piscinas protegidas do vendo e das ondas;
- Praia da Vrzea do Una: grande baa com larga faixa de areia e mar de ondas
fortes, tima para a pesca submarina;
- Coroa Grande: praia principal do municpio de So Jos da Coroa Grande; as
formaes rochosas originaram seu nome, estas formam grandes piscinas naturais
durante a mar baixa cujas guas so mornas e tranqilas.
Praias do Litoral Norte
- Carne de Vaca: praia de gua barrenta por estar prximo a foz do rio Goiana;
abriga vila de pescadores;
- Ponta de Pedras: praia de guas bastante tranqilas com ondas fracas, ideal para
banho;
- Ilha de Itamarac: formada por vrias praias de guas calmas e cristalinas,
algumas movimentadas (Jaguaribe) outras tranqilas; Praia do Forte Orange um
dos atrativos;
- Gavoa: praia de mar calmo e areias fofas, localiza-se entre a ilha de Itamarac e a
praia de Maria Farinha;
- Maria Farinha: praia de guas rasas e claras podendo-se andar por alguns metros
com guas na altura da cintura; pratica-se esportes nuticos e vos de ultraleve;
- Conceio: praia que consegue reunir em seu pequeno espao areias claras e
limpas, arrecifes, coqueiros e guas tranqilas;
- Pau Amarelo: apresenta mar calmo e piscinas naturais em alto mar. Caracteriza-
se por ser repleta de coqueiros e pelo Forte de Pau Amarelo construdo em 1719;
- Janga: praia urbana onde comum ver grupos danando a tradicional ciranda
- Nossa Senhora do : em sua extenso de 1,5 quilmetros de extenso espalham-
se palhoas e bares tornando o local propcio para happy hour assoociado com
banho de mar;
- Rio Doce: destaca-se pela presena de diques a beira-mar, em um deles uma
imagem de Iemanj, caracteriza-se tambm pelos vrios barcos de pescadores
ancorados na regio;
- Casa Caiada: 1,5 quilmetros de orla diferenciada pela areia dourada da praia e
mar profundo com vrios barcos ancorados.
532
Praias da Ilha de Fernando de Noronha
- Morro dos Dois Irmos: trata-se de duas elevaes entre a praia da Cacimba do
Padre e a Baa dos Porcos;
- Baa de Santo Antonio: abriga um ancoradouro natural servindo para carga e
descarga de embarcaes contando ainda com um pier de pedra para atracar;
- Praia do Cachorro: est abaixo do Forte dos Remdios com runas do Parque de
Santa Ana;
- Praia do Boldr: tima para banho e prtica de surf, alm do pr-do-sol sem igual;
- Praia do Americano: deserta e pequena, ideal para descansar;
- Cacimba do Padre: excelente para surfar;
- Baa dos Porcos: praia pequena e de difcil acesso por estar rodeada por um
penhasco;
- Baa dos Golfinhos: seu acesso proibido por servir de local para que os
golfinhos rotadores possam se acasalar;
- Portal da Sapata: recebe este nome pelo porto rochosos esculpido pelo mar e
pelo vento;
- Praia do Leo: reduto ecolgico de proteo as tartarugas marinhas;
- Baa Sueste: praia de mar calmo servindo de porto em poca de ressaca
impedindo o desembarque no Porto de Santo Antonio;
- Praia do Sancho: praia isolada, tima para banhos; chega-se at l por mar ou por
degraus encravados em uma falsia;
- Praia do Atalaia: fica repleta de piscinas naturais quando a mar est baixa.
Culinria
Recebeu a influncia indgena, africana e portuguesa misturando tradies o que
resultou em uma mistura de sabores, cores e perfumes.
Alguns pratos so tradicionais em certas pocas do ano: Semana Santa come-se
peixe ou camaro acompanhado de bredo, arroz e feijo cozidos no leite de coco; no
So Joo predominam as comidas de milho (pamonha, canjica, bolo de milho) alm
de bolo de macaxeira, p-de-moleque e bolo Souza Leo.
Por tudo isto a culinria pernambucana apresenta-se bastante diversificada, fazendo
uso dos frutos do mar e outros ingredientes prprios da regio.
- Pratos a base de frutos do mar
Bolo de camaro; Camaro de coco, alho e leo, na manteiga, no bafo; Camaro
com gelia de coco verde; Jerimum recheado com camaro ao creme de manga;
Moqueca de lagosta, camaro, peixe e siri-mole; Fritada de siri, aratu, caranguejo,
camaro e peixe-agulha; Fil de peixe recheado com lagosta e camaro; Fil de
533
surubim empanado e recheado com queijo e camaro; Peixadas; Guaiamum ao
molho de coco ou tomate.
- Pratos tpicos (Carnes)
Carne de sol (boi ou porco) com feijo verde, farofa de jerimum, arroz ao leite,
macaxeira, batata-doce, paoca, piro de queijo, queijo coalho, molho vinagrete e
manteiga de garrafa; Galinha a Cabidela com arroz, farofa de jerimum, feijo verde e
inhame; Arrumadinho de Charque, Dobradinha; Cabrito; Bode Guisado; Rabada;
Buchada; Chambaril e Mo de Vaca com piro e arroz.
- Sobremesas e Bebidas
Filhoses (bolinhos com calda de mel); Passa de Caju; Queijo manteiga ou coalho
com mel de engenho; Cartola (banana flambada em queijo manteiga, coalho ou
prato com canela e acar). Coquetis, Caipiroscas, Batidas e Sucos de caj,
mangaba, graviola, pitanga, abacaxi, cco entre outros.
Outra caracterstica regional a forma com que so servidos os pratos - dentro de
jerimuns, de abacaxis, na telha, no cco - e os molhos que os acompanham -
manga, pitanga, tamarindo e maracuj.
Tambm se faz presente no estado a culinria internacional.
Artesanato
Quem visita Pernambuco no consegue sair de l sem uma lembrana, bordados
para cama, mesa, banho e vesturio, peas de madeira e barro so feitos segundo
as tradies passadas de gerao a gerao. So plos de artesanato no estado as
cidades de Recife, Olinda, Camaragibe, Tracunham, Gravat, Bezerros, Caruaru,
Passira, Petrolina, Lagoa do Carro, Sertnia, guas Belas, Ibimirim e Cachoeirinha.
Carnaval
considerado um dos melhores e maiores carnavais do mundo. O frevo, ritmo
caracterstico do estado contagia a todos, seja em Olinda, Boa Viagem ou Recife o
folio pode brincar a vontade ao som das orquestras de frevo, trios eltricos e
bandas improvisadas.
Em Olinda, as ladeiras decoradas se enchem de brincantes que acompanham os
blocos, maracatus, afoxs, troas e bonecos gigantes ladeira abaixo ou acima,
dependendo do sentido programado, comeando na semana pr-carnavalesca e
terminando no domingo depois do carnaval.
Para brincar o carnaval foram criados vrios blocos e agremiaes: Ceroulas de
Olinda, Eu acho que pouco, Os Ensaboados, Flor de Lira, Bloco da
Saudade entre outros. Um dos mais conhecidos O Galo da Madrugada - chega a
reunir um milho de pessoas embaladas por 18 trios eltricos, duas freviocas e uma
orquestra de pau e corda, seguindo do Forte das Cinco Pontas at a Avenida
Guararapes. O mais recente bloco criado a Galinha D'gua reunindo cerca de 150
barcos pelo rio Capibaribe entre as pontes da Boa Vista e Princesa Isabel.
Tudo isto e muito mais espera por queles que desejam conhecer um pedao do
nordeste.
534
ESTADO DO PIAU
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/pi2.html#governo
Histria, Povoamentos e Colonizao
Em 1674, fazendeiros do So Francisco procuravam expandir suas criaes de
gado, e passaram a ocupar as terras s margens do rio Gurguia. Para estas terras
existiam cartas de sesmarias. O capito Domingos Afonso Mafrense ou capito
Domingos Serto como era conhecido, era um desses sesmeiros; possua trinta
fazendas de gado e foi o mais alto colonizador da regio doando suas fazendas -
aps sua morte - aos padres jesutas da Companhia de Jesus.
A contribuio dos padres jesutas foi decisiva, principalmente no desenvolvimento
da pecuria que em meados do sculo XVIII atingiu seu auge. A regio Nordeste, o
Maranho e as provncias do sul eram abastecidas pelos rebanhos originrios do
Piau; at a expulso dos jesutas (perodo pombalino), quando as fazendas foram
incorporadas Coroa e entraram em declnio. Quanto colonizao esta se deu do
centro para o litoral.
Localizao e rea Territorial
Localiza-se geograficamente na regio
nordeste, mais precisamente, entre os
paralelos 244'49'' e 1055'05'' (lat. sul) e entre
os meridianos 4022'12'' e 4555'42'' (lat.
oeste). Ocupa 16,16% da regio nordeste,
estando dividida em 221 cidades e abrigando
uma populao de cerca de 2.735.152
habitantes.
Limita-se: a Leste com os Estados do Cear e
Pernambuco; ao Sul e Sudeste com a Bahia; a Sudoeste com Tocantins; a Oeste
com o Maranho e ao Norte com o Oceano Atlntico.
535
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pi1.html#mapa
536
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rpi.html
537
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hpi.html
538
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/ipi.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
Governo e rgos ambientais
Governo
Governador: Jos Wellington Barroso de Arajo Dias
Av. Antonino Freire, 1450
CEP: 64.001-040
Fone: (0xx86) 3221-3479 / 5001
Fax: (0xx86) 3221-1696
Vice-governador: Osmar Ribeiro de Almeida Jnior
Rua Paissand, 1456
CEP: 64.001-120
Fone: (0xx86) 3221-5523 / 8771
Fax: (0xx86) 3221-5712
Secretaria de Estado do Governo
Joaquim Barbosa de Almeida Neto (secretrio)
Av. Antonino Freire, 1450 Centro
CEP: 64.001-040
Fone: (0xx86) 3226-8364
Fax: (0xx86) 3221-9820
539
Secretaria de Comunicao Social
Oscar de Barros Sousa (secretrio)
Av. Valter Alencar, 2021 Monte Castelo
CEP: 64.017-500
Fone: (0xx86) 3218-5770 / 5772
Fax: (0xx86) 3218-1133 / 5769
Secretaria Extraordinria de Programas Especiais
Rodrigo Parentes Fortes Ferraz (secretrio)
Av. Valter Alencar, 2021
CEP: 64.017-500
Fone: (0xx86) 3218-3839 / 4545
Fax: (0xx86) 3218-1588
Secretaria de Segurana Pblica
Francisco Airton Franco Filho (secretrio)
Praa Conselheiro Saraiva Rua Barroso, 219
Fone: (0xx86) 3221-7551 / 1461
Fax: (0xx86) 3221-1528
Secretaria da Fazenda
Walber Jos da Silva (secretrio)
Av. Pedro Freitas, s/n
Centro Administrativo, Bloco C
Fone: (0xx86) 3216-9622 / 9600 / 9620
Fax: (0xx86) 3216-9628
Secretaria da Educao
Antonio Jos Castelo Branco Medeiros (secretrio)
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900
Fone: (0xx86) 3216-3218 / 3201
Fax: (0xx86) 32116-3315
Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Irrigao
Srgio Luiz Oliveira Vilela (secretrio)
Rua Joo Cabral, s/n - Bairro Piraj
CEP: 64.002-150
Fone: (0xx86) 3213-1410
Fax: (0xx86) 3213-1415
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hdricos
Dalton Melo Macambira (secretrio)
Rua Desembargador Freitas, 1599 Edif. Paulo VI
CEP: 64.000-240
Fone: (0xx86) 3221-8879 / 8570
Fax: (0xx86) 3221-9555
Secretaria de Obras e Servios Pblicos
Bertolino Marinho Madeira Campos (secretrio)
Av. Pedro Freitas, s/n
Centro Administrativo, Bloco G 1 Andar
540
Fone: (0xx86) 3216-8406 / 8409
Fax: (0xx86) 3216-8407
Secretaria de Sade
Jos Nazareno Cardeal Fonteles (secretrio)
Av. Pedro Freitas, s/n
Centro Administrativo, Bloco A
Fone: (0xx86) 3218-1447 / 1474
Fax: (0xx86) 3218-1422 / 5718
Secretaria do Planejamento
Merlong Solano Nogueira (secretrio)
Av. Miguel Rosa, 3190 Sul
Fone: (0xx86) 3221-3145 / 4575
Fax: (0xx86) 3221-1660
Secretaria de Indstria e Comrcio
Jorge Antonio Pereira Lopes (secretrio)
Av. Pedro Freitas, s/n
Centro Administrativo, Bloco A
Fone: (0xx86) 3218-1822
Fax: (0xx86) 3218-1833 / 1555
Secretaria de Cincia e Tecnologia
Jnatas Barros Nunes (secretrio)
Av. Pedro Freitas, s/n
Centro Administrativo, Bloco A
Fone: (0xx86) 3218-2023
Fax: (0xx86) 3218-1555
Secretaria da Administrao
Maria Regina Sousa (secretria)
Av. Pedro Freitas, s/n
Centro Administrativo, Bloco I
Fone: (0xx86) 3218-1744 / 1766
Fax: (0xx86) 3218-1726
Secretaria do Trabalho
Luiz Ubiraci Carvalho (secretrio)
Av. Pedro Freitas, s/n
Centro Administrativo, Bloco I
Fone: (0xx86) 3218-1955 / 1944 / 1919
Fax: (0xx86) 3218-1755 / 1933
Secretaria de Justia e da Cidadania
Joo Henrique Ferreira de Alencar Pires Reblo (secretrio)
Av. Pedro Freitas, s/n
Centro Administrativo, Bloco G 2 Andar
Fone: (0xx86) 3218-1711 / 5571
Fax: (0xx86) 3218-1525
541
Secretaria das Cidades
Ataelson Sousa de Carvalho (secretrio)
Av. Pedro Freitas, s/n
Centro Administrativo, Bloco G - 1 Andar
Fone: (0xx86) 211-0698
Fax: (0xx86) 218-5851
Secretaria dos Esportes
Francisco Jorge Lopes Sousa (secretrio)
Centro Administrativo
Fone: (0xx86) 218-3985
Fax: (0xx86) 211-0504
Secretaria de Agronegcios
Joo Batista Alves (secretrio)
Rua lvaro Mendes, 1313 - 5 Andar
Fone: (0xx86) 215-2223 / 2100 / 2240
Fax: (0xx86) 221-2251 / 2494
Secretaria dos Transportes
Robert Rios Magalhes (secretrio)
Aav. Miguel Rosa, 2885
CEP: 64.000-480
Fone: (0xx86) 223-3667 / 8719 / 3678
Fax: (0x86) 223-3673
rgos Ambientais
- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pi3.html#relevo
caracterizado por no apresentar grandes elevaes, apenas 18% do territrio
encontra-se acima dos 600 metros de altitude; divide-se em trs unidades
geomorfolgicas.
Baixada Litornea
Situa-se ao norte do estado sendo formada por terrenos baixos e arenosos; o delta
do rio Parnaba atravessa a baixada mais a oeste.
542
Planalto de Chapadas e Serras
a unidade na qual esto localizadas as maiores altitudes do estado, variando entre
600 e 880m. Estende-se pelo leste, sudeste e sul do Piau apresentando algumas
formaes do relevo local que confrontam-se com os estados vizinhos como:
Chapada da Mangabeira - Tocantins e Bahia
Serra da Tabatinga, da Gurguia e dos Dois Irmos - Bahia
Chapada do Araripe - Pernambuco
Serra da Ibiapaba - Cear
Alm de marcar o limite entre os estados, algumas chapadas entre Piau e Bahia
servem como divisor de guas entre as bacias do Parnaba e So Francisco.
Plancie do Parnaba
formada por terras baixas situadas as margens do rio Parnaba. Une-se a Baixada
Litornea na poro norte, prolongando-se ao leste e ao sul pelos vales dos rios
Poti, Canind e Gurguia.
Hidrografia
formada por rios que compem a bacia do Parnaba. O maior rio - Parnaba - com
1.716 km de extenso aproximadamente, serve como divisa natural entre o Piau e o
Maranho, este mesmo rio teve seu curso modificado pelo homem nas proximidades
da cidade de Guadalupe, formando a represa de Boa Esperana onde passou a
existir um grande lago artificial.
Principais afluentes do Parnaba no Piau: Long, Poti, Canind, Gurguia e
Uruu-Preto. Os demais rios do Piau, exceto o Parnaba e seus afluentes, so
intermitentes (secam durante um perodo do ano).
Alm dos rios, importantes lagoas fazem parte da hidrografia, entre elas esto a
Parnagu, maior do estado, a Cajueiro e a Buriti.
Litoral: conta com 66 quilmetros, o menos extenso do Brasil sendo formado
basicamente por mangues. Ilha Grande de Santa Izabel e Barra das Canrias so
importantes acidentes do litoral piauiense.
Clima
Duas tipologias climticas ocorrem no estado. A primeira, classificada por Kppen
como tropical quente e mido (Aw); domina a maior parte do territrio variando entre
25 e 27C. As chuvas na rea de ocorrncia deste clima tambm so variveis. Ao
sul, indicam cerca de 700mm anuais, mais ao norte a pluviosidade aumenta,
atingindo ndices prximos a 1.200mm/ano.
543
O segundo tipo de clima predomina na poro sudeste do estado, sendo classificado
como semi-rido quente (Bsh). As chuvas ocorrem durante o vero, distribuindo-se
irregularmente, alcanando ndices de 600mm/ano; pela baixa pluviosidade, a
estao seca prolongada (8 meses mais ou menos) sendo mais drstica no centro
da Serra da Ibiapaba. As temperaturas giram na casa dos 24 a 40C, tendo seus
invernos secos.
Vegetao
Predominam trs classes vegetacionais: caatinga, cerrado e floresta.
Caatinga: tem sua ocorrncia registrada no sul e sudeste do estado; composta por
cactos, arbustos e rvores de pequeno porte.
Cerrado: estende-se nas pores norte e leste, apresenta os caractersticos
arbustos e rvores retorcidas e algumas gramneas cobrindo as reas.
Floresta: encontrada ao longo do Vale do Paraba; composta por palmeiras,
principalmente espcies como carnaba, baba e buriti. Estas espcies de floresta
tambm podem ser encontradas no cerrado local e na mata do Parnaba.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pi5.html
As diversas belezas naturais do estado, em conjunto com os aspectos culturais o
potencializam ao turismo e ecoturismo de maneira sustentvel e preservacionista.
Atrativos naturais como: praias, deltas, mangues, lagoas, dunas, igaraps, lagos,
cachoeiras, chapadas, cerrado e caatinga chamam a ateno de turistas do mundo
todo. Tambm os parques, os stios arqueolgicos, a arquitetura, o folclore
movimentam as regies tursticas.
Na poro norte do Estado, o Parque Nacional de Sete Cidades guarda resqucios
das civilizaes egpcia e fencia em formaes rochosas, s quais formam imensos
stios arqueolgicos, os mais antigos do Brasil e da Amrica. Ao todo so 280 j
mapeados no Piau. Fauna e flora apresentam-se exuberantes na localidade.
O litoral, por sua vez, em seus 66 quilmetros guarda a simplicidade da vida dos
pescadores enriquecida pela beleza das praias, lagoas, igaraps, dunas e mangues,
merecendo destaque a Lagoa do Portinho.
O artesanato da regio do Parnaba apresenta-se bastante rico e diversificado.
Rendas de bilro, cermicas decoradas, tecelagem, objetos de fibra e palha,
esculturas de madeira fascinam os turistas que por l passam.
Vale a pena lembrar e conhecer o Delta do Parnaba, santurio e ponto turstico
estadual formado por mais de 80 pequenas ilhas.
544
Culinria
A culinria piauiense difere-se das demais da regio nordestina. Temperos como
cheiro-verde, cebolinha branca, pimenta-de-cheiro e urucum so largamente
utilizados, assim como a farinha de mandioca para se fazer ou complementar alguns
pratos.
Comida indispensvel para os habitantes locais o piro, a paoca e as farofas ou
fritos, estes utilizam a farinha branca acrescida de carne frita que pode ser de porco,
seca, galinha caipira ou d'angola (capote); torresmo e ovos tambm so misturados
nos fritos. O arroz aceita misturas com carne seca de gado (Maria Izabel), galinha
caipira, capote e pato sendo indispensvel o urucum e o cheiro verde. Na poro sul
o arroz colorido com aafro; j no interior, arroz com feijo conhecido como Baio
de Dois, ou feijo com milho temperado com toucinho, p e orelha de porco
chamado de Mucunz ou Pintado so servidos com os tradicionais fritos.
Outros pratos tpicos como a carne com caldo, carne seca picada ou fresca moda e
misturada com quiabo, jerimum, macaxeira e maxixe temperada com cheiro-verde,
manteiga de garrafa e nata recebendo o nome de quibebe, picadinho ou capiau,
conforme a regio do estado.
Peixes e frutos do mar so a base das populares frigideiras e caldeiradas de
camaro, mexidos de ostra e caranguejo e peixadas ao leite de coco babau
apreciadas at mesmo pelos mais exigentes paladares. As compotas e os doces de
caju, manga, goiaba, mangaba, buriti, bacuri, groselha, casca de laranja da terra so
caractersticas do estado, sendo o doce de casca de limo azedo o mais tpico.
Bolos caseiros e beiju feitos com farinha de puba (mandioca) so apreciados pelos
moradores locais e pelos turistas, no faltando a macaxeira cozida ou assada.
Folclore
Lendas e comemoraes enriquecem o folclore e a prpria cultura piauiense. O
estado considera-se o pai do Bumba-meu -boi, comemorao muito festejada
durante a poca de So Joo (junho) em todo o Brasil. Outras lendas locais
despertam interesse geral como a da Cabea de Cuia (msica e lenda), a do Num-
se-pode (msica e lenda), Zabel e A Porca dos Dentes de Ouro.
545
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/rn.html
Histria, Povoamentos e Colonizao
No final do sculo XVI os franceses que ocupavam a regio desde 1535 foram
expulsos permitindo a ocupao portuguesa. Construda em 1598, a Fortaleza dos
Reis Magos originou a cidade de Natal e constituiu-se na mais setentrional defesa do
estado portugus na regio.
At 1633, o povoamento da regio foi lento, porm, com a conquista e ocupao por
parte dos holandeses durante 20 anos, estes tiveram apoio dos ndios nativos e
passaram a explorar o sal, a cultivar cana-de-acar e a criar gado. Com a expulso
dos holandeses em 1654, os portugueses enfrentaram uma rebelio das tribos
indgenas (Confederao dos Cariris) as quais eram escravizadas. Esta batalha
durou at o final do sculo XVII.
Subordinada a capitania de Pernambuco a partir de 1701, esta capitania teve
dificuldades em desenvolver-se. Somente em 1824 passou a ser provncia e com a
Proclamao da Repblica (1889) tornou-se estado.
Geograficamente est bem posicionado, sua costa a mais prxima da Europa
(roteiro da frica), motivo pelo qual durante a II Guerra Mundial abrigou uma base
area. Durante a II Guerra viviam na regio estrangeiros de vrias origens, as
jazidas de tungstnio abasteciam os arsenais e a pobreza era atenuada.
Leia Tambm: Smbolos do Rio Grande do Norte
Localizao e rea Territorial
Localizado no extremo nordeste brasileiro,
limita-se ao Norte e a Leste com o Oceano
Atlntico (410 km de extenso); ao Sul com o
Estado da Paraba e a Oeste com o Estado do
Cear.
Em suas 166 cidades habitam
aproximadamente 2.770.302 pessoas. O
Estado do Rio Grande do Norte apresenta
uma rea total de 53.306,8 km o que, em
termos de territrio nacional significa 0,62%.
546
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rn1.html#mapa
547
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rrn.html
548
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/irn.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rn2.html#governo
Governo
Governadora: Wilma Maria de Faria
Vice-governador: Antonio Jcome de Lima Jnior
Fone: (0xx84) 232-7001 / 232-1197Fax: (0xx84) 206-4752 / 232-2375
E-mail: governadora@rn.gov.br
Secretaria de Assuntos Fundirios, de Colonizao e Apoio Reforma Agrria
Jos Anchieta Ferreira Lopes (secretrio)
Av. Nascimento de Castro, 2091 - Morro Branco
CEP: 59.054-180
Fone: (0xx84) 232-7262 / 7280
Fax: (0xx84) 232-7261
E-mail: seara@rn.gov.br
Secretaria de Estado da Indstria, do Comrcio, da Cincia e da Tecnologia -
SINTEC
Carlos Alberto de Souza Rosado (secretrio)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-1702 / 1750
Fax: (0xx84) 232-1745
E-mail: sintec@sintecrn.gov.br
549
Secretaria de Estado da Ao Social - SEAS
Mrcia Faria Mendes (secretria)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-1810 / 1850
Fax: (0xx84) 232-1830
E-mail: seasrn@rn.gov.br
Secretaria de Estado da Administrao e dos Recursos Humanos - SEARH
Francisco Honrio de Medeiros Filho (secretrio)
Centro Admininistrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone (0xx84) 232-1000 / 1020
Fax: (0xx84) 232-1005
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuria e da Pesca - SAPE
Iber Paiva Ferreira de Souza (secretrio)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-1140 / 1141
Fax (0xx84) 232-1151
E-mail: saabrn@eol.com.br
Secretaria de Estado da Defesa Social
Cludio Manoel de Amorim Santos (secretrio)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-1083 / 1082
Fax: (0xx84) 232-1093
Secretaria de Estado da Educao, da Cultura e dos Desportos - SECD
Maria do Rosrio de Ftima de Carvalho (secretria)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-1330 / 1331
Fax: (0xx84) 232-1307
E-mail: gabsecd@rn.gov.br
Secretaria de Estado da Infra-estrutura - SIN
Gustavo Henrique Lima de Carvalho (secretrio)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-1610 / 1611
Fax: (0xx84) 232-1660
Secretaria de Estado da Sade Pblica - SESAP
Ivis Alberto Loureno Bezerra de Andrade (secretrio)
Av. Deodoro, 730 - 8o. Andar
CEP: 59.025-600
Fone (0xx84) 232-2610 / 2611
Fax: (0xx84) 232-2614
550
Secretaria de Estado da Tributao - SET
Lina Maria Vieira (secretria)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-2043 / 2010
Fax: (0xx84) 232-2038
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanas - SEPLAN
Francisco Vagner Gutemberg de Arajo (secretrio)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-1910 / 1905
Fax: (0xx84) 232-1911
Secretaria de Estado do Trabalho, da Justia e da Cidadania - SEJUC
Leonardo Arruda Cmara (secretrio)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-1764
Fax: (0xx84) 232-1768
E-mail: leonardo.arruda@digi.com.br
Secretaria de Estado do Turismo - SETUR
Haroldo Cavalcanti de Azevedo (secretrio)
Rua Mossor, 359 - Tirol
CEP: 59.020-090
Fone: (0xx84) 232-2484 / 2518
Fax: (0xx84) 232-2502
Secretaria de Estado dos Recursos Hdricos - SERHID
Josem de Azevedo (secretrio)
Av. Hermes da Fonseca, 1174 - Tirol
CEP: 59.020-000
Fone: (0xx84) 232-2410 / 2430
Fax: (0xx84) 232-2411
E-mail: serid@rn.gov.br
Secretaria Extraordinria para Articulao com os Municpios
Ismael Wanderley Gomes Filho (secretrio)
Centro Administrativo - Lagoa Nova
CEP: 59.064-901
Fone: (0xx84) 232-7066 / 7100
Fax: (0xx84) 232-7079
rgos Ambientais
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis
- Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEC
551
Outorga de guas
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rn_aguas.html
O Programa de Outorga do Direito de Uso de gua que foi concebido e elaborado
pela Secretaria de Estado dos Recursos Hdricos, no mbito da Coordenadoria de
Gesto de Recursos Hdricos - COGERH, vem sendo implementado desde 1996,
com rea de atuao abrangendo todo o territrio estadual.
A concesso de Outorgas est centrada nos princpios bsicos da administrao dos
recursos naturais e sua integrao com os diversos usos que a sociedade d s
guas dentro do mbito de suas bacias hidrogrficas, com base no planejamento e
gerenciamento especfico dos recursos hdricos disponveis no Estado.
Permite que seu aproveitamento seja realizado de uma forma eqitativa e
participativa, de maneira que sua utilizao seja eficiente de acordo com os padres
de qualidade e quantidade satisfatrios para os usurios atuais e para as geraes
futuras.
Dentre os princpios gerais da regulamentao vigente da Outorga de Direito de Uso
de gua, destacam-se os seguintes princpios bsicos:
O aproveitamento dos recursos hdricos tem como prioridade o abastecimento
humano.
O acesso a gua constitui direito de todos para as primeiras necessidades da vida.
A unidade bsica de planejamento para gesto dos recursos hdricos a bacia
hidrogrfica.
dever de todos zelar pela conservao e preservao dos recursos hdricos em
seus aspectos qualitativos e quantitativos.
A distribuio da gua no territrio do Rio Grande do Norte obedecer a critrios
sociais, econmicos e ambientais.
O uso da gua tem que ser compatvel com as polticas federal e estadual do
desenvolvimento urbano e rural.
Quanto prioridade para as autorizaes e concesses da outorga, a Lei estabelece
que se respeite a seguinte ordem:
Primeira - O abastecimento humano em residncias, hospitais, estabelecimentos de
ensino, quartis, presdios e outros locais semelhantes.
Segunda - O abastecimento de gua para consumo humano em entidades pblicas
ou privadas.
Terceira - O abastecimento de gua para fins de dessedentao animal.
552
Quarta - Abastecimento de gua para fins de produo rural, compreendendo:
irrigao, pecuria, piscicultura e outros afins.
Quinta - Abastecimento de gua para fins de produo industrial, comercial e de
prestao de servios.
Sexta - Outros usos definidos pelo Conselho Estadual de Recursos Hdricos -
CONERH.
A outorga no dispensa nem prejudica outras formas de controle e licenciamentos
especficos, inclusive os que digam respeito ao saneamento bsico e ao controle
ambiental, previstos em Lei.
Obrigao
De acordo com a Lei Estadual N 6.908, de 01/07/1996, que dispe sobre a Poltica
Estadual de Recursos Hdricos, e do Decreto Estadual N 13.283, de 22/03/1997,
que a regulamenta, obrigatrio dispor de uma Outorga de Direito de Uso de
gua, com fins de abastecimento humano e animal, irrigao, piscicultura,
ranicultura, produo industrial, uso comercial e de prestao de servios.
Registro
Alm do Formulrio de Requerimento preenchido, devero, obrigatoriamente, ser
anexados ao pedido de Outorga, as seguintes informaes referentes a:
Propriedade do imvel
Fotocpia recente e autenticada da Escritura e do Registro da Propriedade, ou
Certido Quinzenria da Propriedade, ou Certido de nus Reais.
Localizao exata da captao de gua, indicando:
Municpio
Bacia e sub bacia hidrogrfica em que est inserido.
Coordenadas Geogrficas, no sistema UTM.
Mapa de localizao (Cpia do mapa da SUDENE a escala 1:100.000).
Nome da fonte de gua (rio, riacho, aude, lagoa, poo tubular, poo amazonas,
canal).
Informaes complementares
Se o requerimento de gua for solicitado para irrigao, pecuria, piscicultura,
ranicultura ou produo industrial, apresentar Projeto Tcnico, subscrito por
profissional ou empresa habilitada, contendo:
553
Memria de clculo das demandas de gua, mapas, plantas, grficos, tabelas, e
outros elementos pertinentes ao projeto.
Vazo mxima diria requerida de gua (m
3
/dia) a ser retirada da fonte de gua.
Tempo mdio de bombeamento dirio ou de derivao de gua.
Para casos em que a captao de gua seja feita de poo com rendimento mximo
inferior a 1.000 litros por hora, a outorga de direito de uso de gua ser dispensada.
Para casos em que a gua a ser retirada seja de poos tubulares, apresentar:
Ficha tcnica do poo, com informaes de vazo mxima de explorao (m
3
/hora).
Profundidade do poo.
Nvel esttico e Nvel dinmico do lenol fretico.
Teste de bombeamento, subscrito por tcnico ou empresa habilitada.
Anlise da qualidade de gua, sendo para caso de consumo humano, no mnimo,
anlise de potabilidade e bacteriolgico, e, para caso de irrigao, um anlise
especfico de salinidade e classificao de sdio na gua.
Para casos em que a gua a ser retirada for de poo amazonas, apresentar:
Teste de bombeamento do poo, assinado por tcnico responsvel.
Anlise da qualidade de gua, especialmente para caso de irrigao, anlise
especfico de salinidade e da classificao do sdio na gua.
Para casos em que a gua a ser retirada for de aude ou lagoa, apresentar:
Nome conhecido do manancial na regio.
Capacidade de acumulao e profundidade mxima estimada do barramento,
assinado por tcnico responsvel.
Local
O requerimento dever ser entregue:
Secretaria dos Recursos Hdricos.
Av. Hermes da Fonseca, 1174 Tirol
Natal Rio Grande do Norte
CEP 59015 -001
Fone: (55) 84 232 24 00
Fax: (55)84 232 24 11
Os requerimentos de Outorgas e Licenas so analisados cuidadosamente pela
equipe tcnica da Coordenadoria de Gesto de Recursos Hdricos - COGERH, com
554
base na metodologia estabelecida pela prpria SERHID, tanto sobre seus aspectos
tcnicos como administrativos.
A SERHID s analisa pedidos de outorgas de direito de uso de gua dos mananciais
considerados estaduais, segundo os critrios estabelecidos pela Poltica Nacional de
Recursos Hdricos, Lei n 9.433.
Para as solicitaes de outorga nos mananciais federais, a SERHID orienta e
encaminha os pedidos Secretaria Nacional de Recursos Hdricos para que esta
seja analisada. Os mananciais considerados federais, no Estado do Rio Grande do
Norte so os seguintes:
Os rios Piranhas/Au, Espinharas, Serid, Curimata, Jacu e Guaju.
Os Audes Pblicos Eng. Armando Ribeiro Gonalves, Bonito II, Flechas, Pau dos
Ferros, Marcelino Vieira, Piles, Riacho da Cruz II, Morcego, Mendubim, Alecrim,
Sabugi, Itans, Cruzeta, Zangarelhas, Marechal Dutra, Dourado, Poo Branco, Inhar,
Trairi e Japi II
Prazos
Em relao aos prazos de vigncia da outorga, estabelece-se que ser de 35 anos o
prazo mximo de durao, podendo ser renovado a critrio da SERHID ou entidades
por ela delegada para o gerenciamento dos recursos hdricos.
Ramitao
A Secretaria dos Recursos Hdricos, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante parecer
tcnico, decidir sobre os pedidos de outorga do direito de uso de gua e de licena
prvia, sendo-lhe facultado ouvir previamente o Conselho Estadual de Recursos
Hdricos - CONERH.
Caber recurso administrativo ao Conselho Estadual de Recursos Hdricos -
CONERH, em ltima instncia administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da data de efetiva cincia do interessado.
Fonte: Secretaria de Recursos Hdricos Governo do Rio Grande do Norte
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rn3.html#projetos
Canal do Patax
1.Objetivos
O Canal do Patax tem como finalidade fazer a transposio de guas da Barragem
Armando Ribeiro Gonalves para o rio Patax, aproveitando a elevao do nvel da
gua a montante da referida barragem, sem a necessidade de bombeamento, e o
555
desnvel existente ao longo do percurso, possibilitando o acrscimo da rea irrigada
do Estado em mais 2.500 hectares.
2. Ficha Tcnica
A captao para o canal se d atravs de uma adutora de 1.000 mm de dimetro,
com extenso de 190 m, derivada da tomada d'gua da Barragem Armando Ribeiro
Gonalves, cuja vazo de 2,2 m/s, controlada atravs de uma vlvula dispersora.
O Canal tem extenso total de 9.000 metros, e foi construdo em dois trechos, sendo
o primeiro de 2.800 metros em alvenaria de pedra com seo retangular de 1,70
metros de altura e 3,50 metros de largura e o segundo de 6.200 metros em concreto
armado, com 3 sees distintas: 1,70 metros de altura e 3,50 metros de largura, 1,20
metros de altura e 2,00 de largura, e 1,20 de altura e 2,70 metros de largura.
No seu trajeto, cruza as rodovias BR-304 (Natal - Mossor) e RN-118 (BR-304 a
Macau - em dois lugares distintos); passa sobre a lagoa de Itaj com aterro a 7
metros de altura; tem uma ponte canal com extenso de 170 metros e uma altura de
5 metros; e foram construdos 40 bueiros, 3 pontilhes, e 4 passadios. Na descarga
final foram executados diques de proteo, e a retificao do curso d'gua, para
direcionar o volume descarregado. No rio Patax, para evitar a interrupo do
trfego de veculos e possibilitar o escoamento da safra agrcola, foram construdas
2 passagens molhadas.
3. Situao Atual
O canal est concludo e em operao.
4. Investimentos
O custo total do investimento de R$ 4.930.000,00 (quatro milhes, novecentos e
trinta mil reais), com recursos provenientes do Governo Federal e Governo Estadual.
Programa de Educao e Divulgao
1. Concepo
O Programa de Educao e Divulgao foi concebido e elaborado pela Secretaria de
Estado dos Recursos Hdricos, no mbito da Coordenadoria de Gesto de Recursos
hdricos - COGERH, e vem sendo implementado desde 1995, com sua rea de
atuao abrangendo todo o territrio estadual.
Apresenta-se como um dos principais instrumentos na promoo da mudana de
hbitos e costumes, seja de modo formal, junto s escolas, ou de modo informal,
junto a sociedade, quanto utilizao racional dos recursos hdricos.
556
2. Objetivos
Tem por objetivo geral promover, em parceria com a comunidade, o estmulo
formao de uma conscincia crtica quanto a utilizao racional, a preservao e a
conservao qualitativa e quantitativa dos recursos hdricos disponveis, visando
garantir a sustentabilidade desses recursos para as atuais e futuras geraes.
Objetivos especficos:
a.Sensibilizar as comunidades para adotarem uma moderna postura, quanto ao uso
correto das guas, em atuao conjunta com rgos da administrao pblica.
b.Atuar junto rede de ensino, pblica e privada, envolvendo alunos e professores,
promovendo palestras e debates sobre a importncia da gua.
c.Promover campanhas educativas permanentes e itinerantes, dirigidas aos diversos
segmentos da sociedade, enfatizando os aspectos ambientais decorrentes da
utilizao dos recursos hdricos.
d.Mobilizar lderes comunitrios, educadores e formadores de opinio para
associarem-se execuo dos programas da SERHID, promovendo fruns,
palestras, seminrios, cursos, exposies itinerantes e outros eventos semelhantes.
e.Organizar acervo tcnico e disponibiliz-lo comunidade, permitindo a
disseminao das informaes de modo gil e democrtico.
3. Metodologia
Utilizando tcnicas de comunicao social, modernos materiais didticos,
audiovisuais e com forte apoio na mdia, o Programa desenvolve junto a sociedade,
as seguintes promoes e atividades:
a.Divulgao junto a rede escolar pblica e privada, em articulao com a Secretaria
de Estado da Educao, da Cultura e dos Desportos, de folders, cartazes, cartilhas e
folhetos de cordel, elaborados em linguagem acessvel aos diversos segmentos da
sociedade aos quais se destinam, realizando um trabalho integrado Governo -
Escola - Comunidade.
b.Atuao junto a mdia, com utilizao de spots, vdeos, artigos em jornais e
revistas, sobre a preservao e a conservao qualitativa e quantitativa dos recursos
hdricos.
c.Promoo de audincias pblicas para debates de assuntos de maior significao,
envolvendo segmentos mais amplos da sociedade, dando-se a esses eventos o
mximo possvel de divulgao.
d.Edio de cartilhas em linguagem simples, para distribuio gratuita nas escolas,
com o objetivo de treinar professores, como multiplicadores de idias estimulando e
orientando os alunos quanto ao uso, a preservao e a conservao dos recursos
hdricos.
557
e.Utilizao de fotos que contenham informaes sobre a importncia da gua nos
seus diversos usos, a necessidade do controle da qualidade da gua, a preocupao
com a possibilidade da escassez e suas conseqncias.
f.Criao de folders onde o tema gua aparea sob a forma de mensagens
ilustradas, elaboradas ao nvel de entendimento do pblico alvo.
g.Utilizao da literatura de cordel, que dever retratar o cotidiano do homem que
convive com a seca, devendo o cordel ser distribudo nas comunidades rurais,
praas pblicas e feiras livres.
h.Promoo de seminrios sobre assuntos tcnicos especficos referentes aos usos
mltiplos da gua com participao de professores, tcnicos, universitrios,
secretrios municipais e especialistas em recursos hdricos.
i.Confeco de livro contendo a Poltica Estadual de Recursos Hdricos, que dispe
sobre os seus usos, a ser distribudo nos meios forenses do Estado e a rgos
interessados.
j.Apresentao de uma exposio itinerante, em todos os municpios do Estado,
divulgando fotos, maquetes e posters de reservatrios, canais, adutoras e obras
hidrulicas, com legendas educativas, distribuindo-se, no evento, material didtico
aos visitantes.
k.Atuao, junto s associaes de usurios de gua, no sentido de que seus
associados se tornem membros atuantes dos programas educativos e participativos
do Governo.
l.Utilizao da biblioteca e filmoteca, no suporte aos programas da SERHID e no
atendimento de pedidos de informaes e consultas escolares, universitrios,
associaes e da sociedade em geral.
4. Situao Atual
Dentre as diversas atividades desenvolvidas pelo Programa, a Secretaria promoveu,
em comemorao ao Dia Internacional da gua, no ano de 1996, o concurso pblico
de redao, desenho e monografia sobre os temas "A gua em Nossa Vida" e "gua
e Desenvolvimento Sustentvel". O primeiro tema destinado aos alunos do primeiro
e segundo graus, e o segundo tema para os universitrios. Os melhores trabalhos
foram premiados com cadernetas de poupana, bicicletas, computadores,
televisores, aparelhos de vdeo, viagens ecolgicas ao Pantanal e Fernando de
Noronha.
O Programa continua mantendo suas atividades, com a utilizao de recursos de
mdia, distribuio de folhetos, cartazes, cartilhas, exibio de vdeos, exposies
itinerantes, pedgios educativos e concursos.
Neste ano, com recursos do Banco Mundial atravs do PROGUA, foi dado incio ao
processo de renovao do Material de Educao e Divulgao, composto de
folhetos, cartazes, cartilhas, vdeos, jogos educativos, mapas do estado e folders.
A seguir, resumo das atividades realizadas:
558
Pblico
Atividade Quantidade
Outros Alunos
Palestras 575 35.300 19.00
Exposies Itinerantes 290 190.000
Apresentao de Teatro de Rua 20
Pedgio Educativo 0
Visita Obras Hdricas 65 900
Entrevistas 775
Exposio de Filmes Educativos 280 175.00
Passeata Ecolgica 10
Seminrio 5 150
Fonte: Secretria de Recursos Hdricos do Estado do Rio Grande do Norte
Programa gua Boa
1. Concepo
Concebido pela Secretaria de Estado dos Recursos Hdricos, no mbito da
Coordenadoria de Gesto de Recursos Hdricos - COGERH, vem sendo
implementado desde 1995, decorrente da necessidade de se ampliar a oferta de
gua para as populaes carentes residentes em comunidades rurais distantes de
sistemas adutores ou de mananciais superficiais produtores, que possuem sistemas
de abastecimento deficitrios, cabendo explorao e distribuio racional da gua
subterrnea, a nica alternativa de suprimento de gua.
Este programa tem tambm como finalidade a utilizao de tecnologias avanadas
na obteno e na distribuio da gua subterrnea e superficial, atravs da
utilizao dos sistemas de dessalinizao de guas salobras captadas de poos
tubulares e no emprego dos sistemas foto voltaicos para a transformao das
energia solar em energia eltrica, no intento de reduzir os custos de investimento e
manuteno da infra estrutura hdrica, necessria melhoria da qualidade de vida
das populaes mais carentes.
As aes desenvolvidas no mbito deste programa vm sendo realizadas com
recursos financeiros alocados pelo Governo Estadual e provenientes de parcerias
com o Ministrio do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hdricos, com o
Ministrio do Planejamento e Oramento/SUDENE, para o Programa Emergencial
de Combate aos Efeitos da Seca e com o Ministrio de Minas e Energia/CHESF,
para o Programa de Desenvolvimento Energtico de Estados e Municpios -
PRODEEM.
2. Objetivos
O Programa gua Boa tem como objetivo geral o abastecimento de pequenas
comunidades rurais. Objetivos especficos:
a.recuperao de pequenos sistemas de captao e distribuio de gua existente;
559
b.perfurao e instalao de poos tubulares;
c.instalao de poos tubulares existentes;
d.instalao de usinas de dessalinizao de gua de poos tubulares que
apresentam qualidade de gua - fsico-qumica e/ou bacteriolgica, no compatvel
ao consumo humano;
e.instalao de sistemas foto voltaicos - energia solar, em substituio cata-ventos
danificados ou em comunidades que no dispem de energia eltrica convencional.
f.instalao de cata-ventos em poos tubulares de baixa produo e que no
dispem de energia eltrica.
3. Metodologia
Em comunidade rurais, identificadas pela Secretaria dos Recursos Hdricos e pelas
Prefeituras Municipais, em que o abastecimento encontra-se deficitrio, so
empreendidas as seguintes aes:
a.Visita tcnica preliminar, para o levantamento de informaes bsicas do tipo:
populao, disponibilidade de energia eltrica, inventrio de captao e de
distribuio existentes, etc.;
b.Locao ou recuperao do sistema de captao;
c.Definio da alternativa a ser utilizada;
d.Execuo dos servios de engenharia, necessrios a implantao do sistema
simplificado de abastecimento.
4. Situao Atual
O Programa encontra-se em pleno andamento, tendo sido realizados, em todas as
regies do Estado, as seguintes aes:
i.implantao de 750 sistemas simplificados de abastecimento;
ii.perfurao de 2.450 poos tubulares;
iii.instalao de 64 sistemas de dessalinizao de gua;
v.instalao de 134 sistemas de energia foto-voltaica.
5. Investimentos
O custo total do investimento de R$ 15.103.392,89 (quinze milhes, cento e trs
mil, trezentos e noventa e dois reais, oitenta e nove centavos), com recursos
provenientes do Governo Federal e Governo Estadual.
560
Fonte: Secretaria de Recursos Hdricos do Estado do Rio Grande do Norte
i) Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rn4.html#relevo
Formaes rochosas cristalinas e sedimentares compem a estrutura geolgica
local; as rochas cristalinas predominam no Nordeste oriental, j as sedimentares so
encontradas na parte ocidental, nas bacias sedimentares costeiras (faixa litornea).
O relevo local formou-se aos poucos com a evoluo geolgica. O tectonismo
influenciou nesta evoluo por meio de fraturamentos e falhamentos, a eroso
tambm agiu para a estruturao do relevo, contando ainda com os aspectos
climticos e os diferentes tipos de rochas que emolduraram-se ao longo dos tempos.
Destas mudanas naturalmente ocorridas h milhes de anos atrs, surgiram
unidades de relevo caracterizando distintas reas do estado, que em sua maioria
baixo com algumas chapadas que no passam dos 300 metros.
Terras Baixas
Ocorrem a leste, ao norte e a oeste do planalto. Apresentam-se com largura varivel
acompanhando o litoral norte e leste, os vales dos rios Apodi e Piranhas e a
Chapada do Apodi (poro noroeste) correspondendo as faixas costeiras destas
reas.
Planalto
Encontra-se no extremo norte da Serra da Borborema seguindo pelo sul do estado
do Rio Grande do Norte estando afastado da faixa litornea, diferindo assim da
Paraba e Pernambuco. Apresenta altitudes elevadas na regio centro-sul, com
altitudes mximas de 600 metros.
Serras
Esto presentes na poro sudoeste do territrio, fronteira com os estados do Rio
Grande do Norte, Paraba e Cear. Caracteriza-se por ser o mais acidentado dos
relevos potiguares com altitudes elevadas, exemplificando essas altitudes esto as
Serras de Luis Gomes, de So Miguel e dos Martins (ponto culminante com 700m.).
Hidrografia
A exemplo da hidrografia de outros estados nordestinos, tambm os rios norte-
riograndenses seguem para duas direes diferentes. Alguns desembocam no litoral
leste, enquanto outros no litoral norte.
Dos rios que correm para leste, destacam-se, o Maxaranguape, o Cear-Mirim, o
Potenji tambm conhecido como Grande do Norte e o Curimata.
Seguindo em direo ao litoral norte, esto os rios mais extensos, sendo o rio Apodi
ou Moor e o rio Piranhas ou A os mais importantes. Este ltimo, compem a
561
bacia do rio Piranhas, a qual banha boa parte do estado e a poro oeste da
Paraba.
Litoral: sua paisagem caracterizada por dunas cobertas por vegetao rala.
Prximo dos municpios de Touros e Maxaranguape o litoral brasileiro toma o rumo
sul.
Entre os principais acidentes orogrficos esto: ponta Upanema, ponta Redonda,
ponta do Tubaro, ponta do Fernandes, ponta dos Trs Irmos, ponta Santo Cristo
no litoral norte; ponta da Gameleira, ponta do Coconha, cabo de So Roque,
enseada de Pititinga, ponta de Santa Rita, ponta Negra, ponta do Flamengo, ponta
Madeiro, baa do Cunha, cabo do Bacopari no litoral leste.
Para amenizar os efeitos da seca na regio, uma vez que todos os seus rios so
temporrios, passou-se a utilizar a construo de ades em vrios pontos do
estado sendo o de Its, Cruzeta, Gargalheiras, Mendobim e Oiticica os maiores.
Clima
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rn5.html#clima
Observa-se no estado a ocorrncia de trs tipologias climticas distintas em cada
regio.
Tropical mido (As): ocorre no litoral leste em uma faixa de aproximadamente 80
quilmetros (largura) com temperaturas mdias na casa dos 24C; os ndices
pluviomtricos registrados so de 1.000mm decaindo no sentido costa-interior onde
atinge 600mm/ano.
Tropical semi-mido (Aw'): est presente no extremo oeste do estado, com chuvas
precipitando durante o outono e temperaturas elevadas. Nas regies serranas
(sudoeste) o volume ultrapassa os 800mm/ano.
Semi-rido quente (Bsh): tipifica as demais reas do estado, inclusive o litoral
norte; suas temperaturas mdias giram em torno dos 26C, enquanto que as chuvas
so irregulares ocasionando perodos de seca, ndices inferiores a 600mm/ano so
registrados.
Apesar do Rio Grande do Norte ser o nico estado a apresentar em seu litoral o
clima semi-rido, com baixa pluviosidade, altas temperaturas e constantes ventos
secos, estes fatores o transformaram no maior produtor nacional de sal, rendendo
85% aproximadamente.
562
Vegetao
Pode-se dizer que a vegetao nordestina como um todo muito pobre,
predominando o agreste, a caatinga, o serto, a floresta tropical e em algumas reas
o cerrado, no sendo diferente no Rio Grande do Norte.
Predominam aqui a caatinga, formada por espcies cactceas, arbustivas e rvores
de pequeno porte, sendo localizadas na poro central e oeste, mais
especificamente no serto norte-riograndense. Em contrapartida, a floresta tropical
constituda de rvores com grandes folhas somente pode ser vista no extremo
sudeste do estado.
Consrcios entre floresta tropical e caatinga compem as reas de Agreste local, o
qual domina a parte leste excetuando o sudeste, onde a vegetao no chega ao
litoral.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rn6.html
Considerada a Cidade do Sol, Natal engloba 172 km do estado sendo um dos
principais centros tursticos do Brasil; apresenta dunas de areia, praias e um ar dos
mais puros de toda a Amrica.
Ao todo so 450 quilmetros de litoral iluminados pelo Sol o ano todo; os tradicionais
passeios de bugre pelas dunas de Jenipabu ilustram bem um dos muitos atrativos
locais, neste passeio o turista pode escolher se quer faz-lo com ou sem emoo.
Existem mais ou menos 44 praias no estado, dentre elas Ponta Negra, Pipa, Pirangi,
Jacum, Maracaja, Galinhos e muitas outras.
Para facilitar a escolha do turista, quanto a que rumo tomar, divide-se o estado em
Litoral Sul, Norte e praias de Natal.
Litoral Sul
De Natal a Sagi so 100 quilmetros de praias, Sagi, a ltima est na divisa com a
Paraba. Vrias so as praias, dentre elas Pirangi do Norte abrigando o maior
cajueiro do mundo.
Praias que integram o litoral sul:
Praias Litoral Sul
Cotovelo Malembar Baia Formosa
Pirangi do Norte Camurupim Tibau do Sul
Sagi Pirangi do Sul Ponta do Madeiro
Cunha Bzios Pipa
Tabatinga Sibama
563
Litoral Norte
o mais extenso do estado, inicia-se na divisa com o Cear onde est situada a
praia de Timbau, distante 336 quilmetros da capital. Passear pela praia da Redinha
emocionante, inicia com a travessia de balsa pelo Rio Potengi.
So atrativos do litoral norte, as praias de:
Praias Litoral Norte
Redinha Muri Pitinga
Touros Lumbi Exu Queimado
So Cristvo Rio do Fogo Baixa Grande
Perobas Ponta do Mel Tibau
Santa Rita Jenipabu Cajueiro
Pitangui Jacum Puna
Calcanhar Graandu Barra do Rio
Galinhos Carabas Maracaja
Barra do
Maxaranguape
So Miguel do
Gostoso
Cabo de So
Roque
Pontal do Anjo
Praias de Natal
Inseridas na capital localizam-se quatro praias urbanizadas, a Praia dos Artistas,
do Meio, do Forte e de Me Luiza. O reconhecimento turstico local se deu com a
avenida litornea, interligando as praias.
So largamente freqentadas as praias do Forte, dos Artistas e da Ponta Negra
juntamente com o Morro do Careca.
Porm, nem s de praia vive o Rio Grande do Norte; grutas, cavernas, stios
arqueolgicos, audes, construes, festas santas e comemoraes populares e
folclricas chamam a ateno em especial para os municpios de Assu, Currais
Novos, Caic, Macau e So Joo do Sabugi.
Culinria
Muitos so os pratos elaborados com frutos do mar, tambm a carne de sol
consumida acompanhada de feijo verde, macaxeira, manteiga de garrafa e farofa
d'gua. Dos pratos tpicos destacam-se: a carne de sol, a galinha cabidela, a
buchada de bode, a paoca, o carneiro guisado, a tapioca, o ensopado de
caranguejo, o camaro e as peixadas.
Das frutas da regio, faz-se diversas sobremesas, doces critalizados, compotas e
doces artesanais (batata, goiaba com castanha, banana com coco e jaca com
castanha), das frutas locais utilizadas esto: pinha, graviola, goiaba, caj, caj,
umb, mangaba, acerola, carambola, pitanga, jaca e manga.
564
Folclore/Artesanato
O folclore regional mostra-se rico com a encenao de Autos e Manifestaes
Populares como o Boi de Reis ou Bumba-meu-Boi apresentado na poca natalina; o
Fandango, com sua influncia portuguesa; o Pastoril, marcado por cantos,
louvaes, las todos diante do prespio; o Bambel, com seu samba, coco de roda
e danas em crculo e o Boi Calemba, que tambm faz parte dos festejos natalinos
com folguedos de praia e serto.
J o artesanato potiguar, caracteriza-se pelo cunho folclrico e artstico, utilizando-se
das fibras de sisal, palha-de-carnaba, coco e junco para tecer bolsas, esteiras e
outras peas; cermica, bordados, labirinto, osso, couro, e as areias coloridas de
Tibau dispostas em garrafas encantam os visitantes.
Muito das caractersticas dos povos que fundaram o estado esto arraigadas na
cultura, artesanato, culinria, folclore e outros aspectos da vida da nao potiguar.
Dos diversos pontos tursticos a serem visitados, alguns so aqui citados:
Pontos Tursticos
Fortaleza dos Reis Magos Centro de Turismo
Centro de Lanamento da Barreira do
Inferno
Museu Cmara Cascudo
Memorial Cmara Cascudo Teatro Alberto Maranho
Igreja Matriz Nossa Senhora da
Apresentao
Catedral Metropolina
Igreja Nossa Senhora do Rosrio do Pretos Igreja de Santo Antonio
Museu de Arte Sacra Museu Caf Filho
Praia do Forte Museu do Mar Onofre Lopes
Teatro Sandoval Wanderley
Antiga Catedral Metropolitana de
Natal
Capitania das Artes Coluna Capitolina Del Pretti
Espao Cultural Palcio Potengi Igreja do Rosrio
Palcio Felipe Camaro Pedra do Rosrio
Solar Bela Vista Instituto Histrico e Geogrfico
565
ESTADO DE SERGIPE
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/se.html#historia
Histria, Povoamentos e Colonizao
Na segunda metade do sculo XVI teve incio a colonizao do estado com a
chegada de navios franceses onde os seus tripulantes trocavam objetos diversos por
produtos da terra (pau-brasil, algodo, pimenta-da-terra).
Garcia D'vila proprietrio de terras na regio iniciou a conquista do territrio.
Contava com a ajuda dos jesutas para catequizar os nativos. A conquista deste
territrio e sua colonizao facilitariam as comunicaes entre Bahia e Pernambuco
e impediriam tambm as invases francesas.
Originrio do povoado de So Cristvo, a capitania de Sergipe D'El-Rei foi
colonizada em 1590 aps a destruio de indgenas hostis; tornou-se plo da
criao de gado e cultivo da cana-de-acar.
Quando das invases holandesas, na primeira metade do sculo XVII a economia
ficou prejudicada, vindo a se recuperar em 1645 quando os portugueses retomaram
a regio. O territrio juntamente com a Bahia foi responsvel em 1723 por um tero
da produo de acar da Bahia na poca.
Uma primeira tentativa em 1820 de conceder autonomia ao territrio fracassou.
Somente em 1823 aps vrias batalhas a capitania do Sergipe emancipou-se da
Bahia. Com a Proclamao da Repblica, passou a ser Estado da Federao tendo
sua primeira Constituio promulgada em 1892.
Localizao e rea Territorial
Menor estado da federao em superfcie com
22.050,4 km de rea total, abriga 1.779.522
habitantes distribudos entre as 75 cidades
existentes.
Est situado na regio Nordeste do Brasil
(poro leste), fazendo limites com os Estados
de Alagoas (Norte) e Bahia (Sul e Oeste) e com
o Oceano Atlntico (Leste).
Dos 75 municpios sergipanos, destacam-se
Aracaju, Lagarto, Itabaina, Estncia, Propri, Piramb, Tobias Barreto e So
Cristvo.
566
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/se1.html#mapa
567
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rse.html
568
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hse.html
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/se2.html#governo
Governo
Governador: Joo Alves
Palcio dos Despachos - Av. Adlia Franco, 3355 - 2o. Andar
CEP: 40.040-020
Fone: (0xx79) 3216-8000 / 8301
Vice-governadora: Marlia Carvalho Mandarino
Praa Olimpio Campos, 14
CEP: 49.010-040
Fone: (0xx79) 3214-3682
Secretarias de Estado
Secretaria de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Irrigao - SAGRI
Etlio de Carvalho Prado (secretrio)
Rua Vila Cristina, 1051 - So Jos
569
CEP: 49.020-150
Fone: (0xx79) 3214-0222 / 4784 / 5683
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Max Jos Vasconcelos de Andrade (secretrio)
Av. Presidente Tancredo Neves, s/n Centro Adm. Gov. Augusto Franco
CEP: 49.080-900
Fone: (0xx79) 3216-7261
Secretaria de Estado da Indstria e do Comrcio - SEIC
Tcito Antonio de Faro Melo (secretrio)
Av. Herclito Rollemberg s/n
CEP: 49.030-640
Fone: (0xx79) 3218-1000 / 1102
Secretaria de Estado da Justia, do Trabalho e Cidadania - SEJUC
Emanuel Messias Oliveira Cacho (secretrio)
Av. Beira Mar, 180 Praia 13 de julho
CEP: 49.020-010
Fone: (0xx79) 3214-3168
Secretaria de Estado da Sade - SES
Eduardo Alves Amorim (secretrio)
Palcio Serigy - Pa Gal. Valado, 32
CEP: 49.010-520
Fone: (0xx79) 3211-9565 / 8401
Secretaria de Estado da Segurana Pblica - SSP
Luiz Antonio Arajo Mendona (secretrio)
Praa Tobias Barreto, 20 - So Jos
CEP: 49.015-130
Fone: (0xx79) 3216-5400 / 5404
Secretaria de Estado de Administrao - SEAD
Jos Ivan de Carvalho Paixo (secretrio)
Rua Duque de Caxias, 346 - So Jos
CEP: 49.015-320
Fone: (0xx79) 3226-2200 / 2202
Secretaria de Estado de Comunicao Social - SECOM
Carlos Alberto Batalha de Matos (secretrio)
Palcio dos Despachos - Av. Adlia Franco, 3305 - 1o. Andar
CEP: 49.040-020
Fone: (0xx79) 3216-8000 / 8102
Secretaria de Estado de Educao, do Desporto e Lazer - SEED
Marcos Aurlio Prado Dias (secretrio)
Travessa Baltazar Goes, 86
CEP: 49.009-900
Fone: (0xx79) 3214-0038 / 211-2853
570
Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLANTEC
Antonio Carlos Borges Freire (secretrio)
Rua Vila Cristina , 1051 - So Jos
CEP: 49.020-150
Fone: (0xx79) 3214-5177 / 4424
Orgos Ambientais
- Administrao Estadual do Meio Ambiente - ADEMA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
- Procuradoria da Repblica no Estado do Sergipe PR/SE
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/se5.html
Programas
Ao criar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o governador Joo Alves Filho,
reconhecendo ter sido o Estado de Sergipe bastante penalizado no passado por
degradaes acentuadas dos seus recursos naturais, decide intervir fortemente no
segmento de modo a disciplinar e racionalizar sua utilizao por toda a sociedade e
assim minimizar os efeitos negativos sobre as futuras geraes. Programas como
Educao Ambiental, Gesto de Polticas Ambientais e Gesto de Unidades de
Conservao, que visam a preservao de ecossistemas como atividade essencial
manuteno da vida, esto contemplados no Plano Plurianual de Sergipe para
execuo por esta Secretaria no perodo 2004-2007 e do a dimenso exata do
nvel de preocupao e comprometimento do governador com as questes
ambientais.
Projetos
*Capacitao de recursos humanos no processo de gesto do meio ambiente
voltada formao e qualificao continuada de pessoal tcnico e de comunidades
para a gesto do uso sustentvel dos recursos ambientais. Esta uma ao que
contempla tambm a elaborao e implementao da Agenda Ambiental Pblica em
Sergipe e do programa de Educao Ambiental Pblica para a Gesto sustentvel
em Sergipe.
* Implementao do Plo de Educao Ambiental visando, entre outros objetivos,
possibilitar as articulaes locais, municipal e regional de forma a estimular os
municpios para a elaborao de diagnsticos e planos de desenvolvimento local,
integrado e sustentvel; e atuar como centro de referncia em informaes, aes e
prticas educativas voltadas sensibilizao dos gestores governamentais e no
governamentais, sobre a temtica ambiental e a sua organizao e participao na
defesa da qualidade do meio ambiente.
* Produo de material tcnico-cientfico e educativo e de multimdia voltados para a
temtica ambiental como instrumentos para construo do saber acerca do meio
ambiente e simultaneamente disponibilizar sociedade;
571
* Elaborao do Cdigo Ambiental do Estado de Sergipe para servir como
instrumento normativo de relevncia ambiental, que ser um marco na construo
de um desenvolvimento com sustentabilidade para o mbito do Estado.
* Formulao de Polticas Ambientais, em especial de Educao Ambiental, da
Biodiversidade e Florestal, bem como difuso dos seus processos e resultados;
* Implementao de Polticas de Desenvolvimento Sustentvel, atravs da
elaborao da Agenda 21 estadual e do estmulo e apoio elaborao das Agendas
municipais;
* Consolidao e implementao da Poltica Estadual da Gesto Integrada dos
Resduos Slidos, atravs da divulgao do seu contedo e capacitao de
representantes dos municpios para o devido cumprimento;
* Realizao de estudos tcnicos e oficinas visando a elaborao e proposio do
Zoneamento Ecolgico-Econmico do Estado;
* Elaborao do Sistema de Informaes Ambientais, que se constitui em um portal
do Estado que conter, de forma atualizada, todos os dados disponveis sobre
recursos ambientais e fontes poluidoras, infratores, licenciamentos fornecidos,
dentre outras informaes ambientais produzidas pelo Governo do Estado de
Sergipe;
* Criao de duas Unidades de uso sustentvel, ou seja, explorao do ambiente
com garantia de perenidade dos recursos ambientais renovveis e dos processos
ecolgicos, sendo uma entre Pirambu e Brejo Grande, no litoral norte do Estado e
uma outra na regio semi-rida, com localizao a ser definida por estudos tcnicos
posteriores;
* Gesto e manejo de Unidades de Conservao, assim entendida como um
processo de administrao visando assegurar a conservao da diversidade
biolgica e dos ecossistemas;
* Elaborao do plano de manejo da "rea de Proteo Ambiental Morro do Urubu",
em Aracaju, de forma a estabelecer o seu zoneamento e as normas para utilizao
da rea de forma sustentvel;
* Plano de Gesto da "rea de Proteo Ambiental do Litoral Sul" que consistir,
entre outras atividades importantes, no estabelecimento do zoneamento e de
normas que devem orientar o uso da rea e o manejo dos seus recursos naturais; na
elaborao do plano de proteo e recuperao de lagoas, dunas, manguezais e
restingas; e na implementao de um horto da APA Sul.
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente (http://www.sema.se.gov.br/)
572
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/se3.html#relevo
Oitenta e seis por cento do estado apresenta altitudes inferiores a 300m, sendo
portanto seu relevo relativamente baixo, se comparado a outros.
Compem fisicamente o territrio, a Zona da Mata, o Agreste e o Serto, de forma
mais suave que nos demais estados nordestinos.
Zona da Mata
Ocorrncia: baixada litornea
Caracterstica: os rios que seguem para o oceano cortam a unidade, tendo suas
vrzeas inundadas pelas guas do oceano (25km da foz) deixando os cursos d'gua
com metros de largura.
Agreste
Ocorrncia: interior do estado
Caracterstica: agreste e zona da mata formam uma faixa de plancies (150km
aproximadamente) vindo a se alargar ainda mais no extremo norte, no vale do So
Francisco e na regio centro-sul.
Serto
Ocorrncia: restringe-se a poro noroeste do Estado
Caracterstica: suas altitudes so pouco superiores s demais unidades no
ultrapassando os 400 metros.
Hidrografia
Tem como mais importante rio o So Francisco, marcando naturalmente a fronteira
de Sergipe com Alagoas; seus principais afluentes no estado so o Jacar, o
Capivara e o Poxim.
Dos rios que desguam no oceano Atlntico alguns merecem destaque. Vaza-Barris,
Serjipe, Piau e Real (divisa entre Sergipe e Bahia).
Seu litoral, em sua poro norte pontilhado por pequenas lagoas (Seca, Redonda,
Camurupim, Catu, de Santa Izabel e Piranduba). Algumas lagoas tambm podem
ser encontradas prximo s margens do rio So Francisco (Caldeiro, da Porteira,
do Peixe Gordo e de Cotinguiba).
Clima
Tropical quente e mido (As) e Semi-rido quente (Bsh), estes dois climas ocorrem
no estado, cada um em regio distinta.
573
O tropical quente e mido incide na poro leste e Zona da Mata; caracteriza-se por
apresentar chuvas de outono-inverno resultando em um ndice de 1.200mm/ano e
temperaturas superiores a 20C. J o semi-rido quente registrado no interior mais
especificamente no agreste e serto. Quanto as temperaturas, estas so elevadas,
havendo diferena no regime pluviomtrico, 800mm/ano sendo que, em algumas
regies no noroeste do territrio chega a 600mm.
Vegetao
A regio da Zona da Mata, apesar de devastada, ainda apresenta exemplares da
floresta tropical. Nas reas de Agreste surge a vegetao de transio, de floresta
tropical para caatinga. A caatinga, por sua vez, tipifica o Serto com cactos, rvores
e arbustos de pequeno porte prprios do serto nordestino.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./ecoturismo/index.html&co
nteudo=./estadual/se4.html
Apesar de suas pequenas dimenses (21 mil km) Sergipe apresenta vrias belezas
naturais e culturais, cidades histricas e culinria que remontam civilizaes antigas,
conta ainda com um parque hoteleiro moderno e de qualidade.
Diversas so as praias existentes no estado, destacando-se a orla da Atalaia - nica
praia iluminada do pas possibilitando o banho e a prtica de esportes noturnos.
Outras praias como: Atalaia Nova, Abas, Saco, Castro e Caueira, no sul; Pirambu,
no norte; Hidreltrica de Xing e os Canyons do rio So Francisco so atrativos
naturais que tambm merecem destaque.
Em termos culturais e histricos, So Cristvo e Laranjeiras ressaltam s demais.
Aspectos folclricos - Taieira, Reisado, Guerreiro, Bacamarteiros, Lambe-Sujo,
Caboclinhos e Parafusos - de danas, costumes e festejos (festas juninas) se fazem
presentes em vrias cidades sergipanas.
De todos os pontos abordados acima, passa-se a discorrer por plos ecotursticos:
- Costa dos Manguezais
Est localizada no litoral norte, reunindo os municpios de Barra dos Coqueiros,
Pirambu e Pacatuba; regio onde a natureza permanece preservada e intocada.
Barra dos Coqueiros situa-se entre mangues, rios e Oceano Atlntico; trata-se de
municpio com vida prpria, com misto de ilha e continente abrigando o principal
porto martimo do estado. Belezas selvagens e com boa infra-estrutura pouco
explorada pelos visitantes; a praia de Atalaia Nova caracteriza-se por guas calmas
e lmpidas com restaurantes beira-mar. Ainda em Barra dos Coqueiros, o turista
pode apreciar manguezais e praias ribeirinhas do rio Pomonga por onde so feitos
passeios de catamar ou to-to-t (pequenos barcos) com paradas para banho e
visita a manguezais.
Seguindo para Pirambu, avistam-se coqueirais e lagoas formadas pela mar, as
quais aprisionam peixes e camares. O municpio est localizado a 70 quilmetros
da capital oferecendo vrias opes de ecoturismo (dunas, Lagoa do Sangradouro,
574
Ponta dos Mangues, Cachoeira de Santa Isabel), serve como sede do Projeto Tamar
que visa preservar tartarugas marinhas. Alm das tartarugas, tambm os camares
so protegidos da pesca predatria. Outro municpio que protege seu ambiente
natural sem deixar de utiliz-lo de forma consciente Pacatu, atravs de seu
pantanal - Pantanal de Pacatu - onde fauna e flora de mangue so preservados
destinando ao turista programas ecolgicos.
- Costa das Dunas
Localiza-se no litoral sul; seu acesso se d pela travessia de balsa do rio Vaza Barris
com uma paisagem sem igual, guas limpas, vrias ilhas recobertas de vegetao
de mangue e brisa suave durante a viagem. Por via terrestre segue-se pela rodovia
Ayrton Sena margeada por coqueiros e, quando menos se espera surgem as praias
de Abas, Caueira e Saco com dunas medindo at 20 metros de altura. Ao lado da
praia do Saco est o Mangue Seco, famoso mangue brasileiro cuja biodiversidade
est intacta. Ao todo so 42 quilmetros de praias (Mangue Seco, Coqueiro, Vapor e
Costa Azul) com vrios atrativos.
- Foz do So Francisco
Passeio que atrai muitos turistas regio seguir pelo Velho Chico de catamar,
vislumbrando as lagoas naturais, as pequenas ilhas e o encontro do rio com o mar.
De Aracaju a Brejo Grande so algumas horas de viagem compensadas pela beleza
das paisagens e por conhecer a Ilha das Flores, Cabeo e Brejo Grande.
- Canyon de Xingo
Resultado do represamento de parte do rio So Francisco para a construo da
Hidreltrica de Xing, surgiu o Lago de Xing, o qual tornou-se atrativo juntamente
com o Canyon de So Francisco, esculpido naturalmente pelas guas do rio. Outras
opes s margens do Velho Chico em sua poro no represada so os passeios
de catamar rumo aos stios arqueolgicos existentes na regio e Grota do Angico,
onde morreram Lampio e integrantes de seu bando. O Museu Arqueolgico e a
Usina de Xing merecem visita.
- Serra de Itabaiana
Situada entre os municpios de Areia Branca e Itabaiana e a 50 quilmetros da
capital, fica a Serra de Itabaiana que se mantm protegida e intacta das aes do
homem. Caracteriza-se pela sucesso de elevaes atingindo 670 metros no topo;
preserva remanescentes de Mata Atlntica e diversos ecossistemas (caatinga,
restinga, cerrado e campo rupestre).
Todo o conjunto da serra constitui-se importante Estao Ecolgica protegida e
monitorada pelo IBAMA, as visitas so acompanhadas de guias autorizadas pelo
rgo. Outras atraes irresistveis na regio so a Gruta da Ribeira, o Poo das
Moas, a Sala do Rio Negro, a Capela, a Cachoeira Vu de Noiva e a Trilha do
Caldeiro.
575
- Cachoeira de Macambira
Fica a 74 quilmetros de Aracaju em uma reserva de Mata Atlntica. tambm
conhecida como Cachoeira de So Francisco sendo considerada a mais bonita do
estado.
Culinria
As delcias sergipanas usam como base frutos do mar, carne de sol e milho.
Moqueca de camaro-pistola e patinhas de caranguejo so alguns dos pratos
tpicos, no esquecendo da moqueca de arraia e do piro de peixe.
A carne de sol tira-gosto preferido pelos habitantes locais, assim como,
caranguejo, piro de leite e os mais variados peixes. Bolinhos, cuscuz, canjica e
pamonhas utilizando milho como base no dia-a-dia e nos festejos juninos, alm de
p-de-moleque e beiju. Frutas como maracuj, coco e pitanga so bastante
apreciadas; complementando os licores de jenipapo, graviola e pitanga alm de
outras frutas que fazem parte do cardpio sergipano.
Artesanato
A riqueza e beleza das peas sergipanas impressionam. Artesanato em couro,
cermica, sisal, renda e bordado so produzidos no serto sergipano, das mais
variadas formas tornando-se irresistvel sua aquisio.
Alguns municpios so grandes centros produtores de artesanato dos mais variados
materiais:
Renda: Tobias Barreto, Nosso Senhora da Glria, Propri, Santana do So
Francisco, Divina Pastora e Cedro de So Joo
Bordado: Aracaju, Propri e Tobias Barreto
Cermica: Santana do So Francisco
Alm dos j citados, outros municpios dedicam-se ao artesanato:
Barra dos Coqueiros: chapus, cestos, fruteiras e cinzeiros com palha e fibra dos
coqueiros
Itabaianinha: cermica indgena
Nossa Senhora do Socorro: ponto cruz, croch e pinturas em cermicas
Estncia: ponto cruz, redend, croch e tecelagem
Simo Dias: ponto cruz, ponto cheio e cermica
Japaratuba:bordado
Laranjeiras: bordados e esculturas de santos em madeira talhada
Cumbe: confeco de tapetes, painis em l e sisal
Cedro de So Joo: redend e toalhas de ponto cruz dando cidade o ttulo de
cidade das bordadeiras.
576
Pontos Tursticos
Praia do Mosqueiro Praia do Atalaia Velha
Praia do Atalaia Nova Cidade Histrica de So Cristvo
Templos Praia de Pirambu
Centro de Atividades Agrcolas
Centro de Turismo e Comercializao
Artesanal
Conjunto da Praa So Francisco Igreja da Misericrdia
Igreja da Ordem Terceira do Carmo Igreja de Nossa Senhora da Vitria
Assemblia Provincial Palcio Provincial
Rio Sergipe Ponte do Imperador
Alto dos Capuchinhos Colina do Santo Antonio
Cristo Redentor
Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceio
Palcio Olmpio Campos Museu do Artesanato
Museu de Arte Sacra de So
Cristvo
Museu Histrico de Sergipe
Museu Rosa Faria Teatro Atheneu
Teatro Juca Barreto Teatro Pedro Brs
Teatro Tobias Barreto
577
REGIO NORTE
ESTADO DO ACR
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/ac.html
Histria, Povoamentos e Colonizao
Originalmente chamado de Aquiri pelos exploradores da regio que transcreveram
do dialeto dos ndios Ipurin a palavra Uwkuru, este territrio antes pertencente
Bolvia foi aos poucos sendo ocupado por brasileiros.
Os primeiros habitantes da regio eram ndios aculturados, isto at os idos de 1877,
quando imigrantes nordestinos fugindo da seca e atrados pelos altos preos da
borracha no mercado internacional iniciaram a abertura de seringais e avanaram
pelas vias hidrogrficas (rio Acre, Alto-Purus e Alto-Juru), chegando a aumentar a
populao na bacia do Alto-Purus de cerca de mil habitantes para 4 mil em um ano.
Buscando garantir o domnio da rea, instituiu-se por parte dos bolivianos a
cobrana de impostos e a fundao da cidade de Puerto Alonso, hoje Porto Acre. A
revolta dos brasileiros diante destas medidas resultaram em conflitos que s tiveram
fim com a assinatura do Tratado de Petrpolis em 17 de novembro de 1903, no qual
o Brasil adquiriu parte por compra, parte por troca de pequenas reas do
Amazonas e do Mato Grosso o territrio do atual Acre. Na regio de fronteira com
o Peru tambm houve controvrsias quanto aos limites territoriais. Em setembro de
1903, os peruanos foram expulsos das reas ocupadas, sendo resolvido o impasse
territorial em 8 de setembro de 1909, tendo como representante nas negociaes o
Baro do Rio Branco, ento Ministro das Relaes Exteriores.
Unificada a partir de 1920, a administrao do Acre passou a ser exercida por um
governador nomeado pelo Presidente da Repblica. Com a Constituio de 1934,
garantiu-se o direito de dois representantes na Cmara dos Deputados e, em 1957,
sob a proposio do Deputado Jos Guiomard dos Santos, o projeto que resultou na
Lei 4.070, de 15 de junho de 1962, sancionada pelo Presidente da Repblica Joo
Goulart, elevou o territrio categoria de estado, elegendo-se em outubro de 1962 o
primeiro governador do Estado Jos Augusto de Arajo.
Localizao e rea Territorial
Localiza-se na poro sudoeste da regio Norte do
Brasil, mais precisamente nas latitudes 0707'S e
1108'S e longitude6630'W e 74W Gr, limitando-
se:
Norte: Amazonas
Leste: Rondnia
578
Sudeste: Bolvia
Sul: Peru
Oeste: Peru
A extenso territorial no sentido Norte-Sul de 445 km e no sentido Leste-Oeste de
809 km.
Situado na Amaznia brasileira (3,9 %), boa parte do territrio do Acre
caracterizado como regio de planalto, sendo cortado a Oeste pela Serra da
Contamana, passando pela plancie Amaznica, onde esto as nascentes dos rios
Juru e Purus, afluentes do rio Amazonas.
Ocupa uma rea de 153.149,9 km, perfazendo 1,8 % do territrio nacional, tendo
como ponto mais elevado a Serra do Divisor ou de Contamana com 600 metros.
Distribuda em 22 municpios, a populao totaliza segundo dados do censo de
2000:
Total
Habitantes
Total
Homens
Total
Mulheres
Total
Populao
Urbana
Total
Populao
Rural
Taxa
Crescimento
Anual
557.337 280.647 276.690 369.796 183.541 3,61
Os municpios mais populosos do Acre so:
Municpio Populao
Rio Branco 259.537
Cruzeiro do Sul 62.691
Feij 25.086
Tarauc 23.894
Sena Madureira 22.595
Xapuri 14.231
Brasilia 13.930
Senador Guiomard 13.830
Plcido de Castro 11.911
Epitaciolndia 10.357
579
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rac.html
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hac.html
580
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/iac.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ac2.html
Governo
Governador: Jorge Ney Viana Macedo Neves
Vice-governador: Arnbio Marques de Almeida Jnior
Secretaria de Assistncia Tcnica e Extenso Agroflorestal - SEATER
Francisco Rildo Cartaxo Nobre (secretrio)
Av. Naes Unidas, 2.604 - Estao Experimental - Cx.Postal 462
CEP: 69.912-600
Fone: (0xx68) 226-4365
E-mail: gabinete.seater@ac.gov.br
Secretaria de Estado de Agropecuria - SEAP
Mauro Jorge Ribeiro (secretrio)
Rua do Avirio, 315 - Bairro do Avirio
CEP: 69909-170
Fone: (0xx68) 224-9621 / 224-7822
E-mail: agropecuaria@ac.gov.br
Secretaria de Estado de Comunicao - SECOM
Anibal Diniz (secretrio)
Av. Brasil, 439 - Centro
581
CEP: 69.900-100
Fone: (0xx68) 224-6838 / 224-2347
Secretaria de Estado de Educao - SEE
Arnbio Marques de Almeida Jnior (secretrio)
Rua Rio Grande do Sul - Bairro Aeroporto Velho, 1907
CEP: 69.903-420
Fone: (0xx68) 223-3580 / 223-6896 / 223-3588
E-mail: gabinete.educacao@ac.gov.br
Secretaria de Estado de Finanas e Gesto Pblica - SEFGP
Jos Alcimar da Silva Costa (secretrio)
Rua Benjamin Constant, 946 - Ed. Sen. Eduardo Assmar
CEP: 69.900-160
Fone: (0xx68) 213-2000 / 213-2081
E-mail: executivo.fazenda@ac.gov.br
Secretaria de Estado de Justia - SEJUSP
Fernando Melo da Costa (secretrio)
Rua Marechal Deodoro, 219 - 3 Andar
CEP: 69.900-210
Fone: (0xx68) 224-1183 / 223-7232
E-mail: seguranca@ac.gov.br
Secretaria de Estado de Modernizao e Tecnologia da Informao - SEMTI
Tatiana Rebello Mansour (secretria)
Av. Getlio Vargas, 232 - 1 Andar - Centro
CEP: 69.900-660
Fone: (0xx68) 211-4310 / 224-1361
E-mail: modernizacao@ac.gov.br
Secretaria de Estado Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA
Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC
Carlos Edegard de Deus (secretrio/presidente)
Fone: (0xx68) 3224-5497
Fax: (0xx68) 3224-5694
E-mail: imac@ac.gov.br
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econmico
Sustentvel - SEPLANDS
Gilberto Lopes do Carmo Siqueira (secretrio)
Av. Getlio Vargas, 232 - 4 Andar - Centro
CEP: 69.900-160
Fone: (0xx68) 224-3727
E-mail: seplands@ac.gov.br
Secretaria do Servidor e do Patrimnio Pblico - SESSEP
Jos de Anchieta Batista (secretrio)
Av. Getlio Vargas, 232 - Centro
CEP: 69.900-900
Fone: (0xx68) 224-5185 / 224-1844
E-mail: servidorepatrimonio@ac.gov.br
582
Secretaria de Estado Extraordinria de Gesto Governamental - SEGOV
Carlos Alberto Bernardo de Arajo (secretrio)
Av. Getlio Vargas, 232 - 1 Andar - Centro
CEP: 69.900-900
Fone: (0xx68) 223-1285 / 223-1485
Secretaria de Estado de Sade - SESACRE
Cassiano Figueira Marques de Oliveira (secretrio)
Av. Getlio Vargas, 1446 - Bosque
CEP: 69.908-850
Fone: (0xx68) 223-7888 / 223-2083
Secretaria de Extrativismo e Produo Familiar - SEPROF
Denise Regina Garrafiel (secretrio)
Av. Getlio Vargas, 300 - Centro
CEP: 69.900-660
Fone: (0xx68) 223-7404 / 223-8543 / 223-7355
E-mail: producao@ac.gov.br
Secretaria de Estado dos Povos Indigenas - SEPI
Francisco da Silva Pinhanta (secretrio)
Rua Rui Barbosa, 17 - Centro
CEP: 69.900-120
Fone: (0xx68) 224-34853 / 224-3417
E-mail: povosindigenas@ac.gov.br
Secretaria de Floresta - SEF
Carlos Ovdio Duarte Rocha (secretrio)
Rua Quintino Bocaiva, 1323 - Bairro Bosque
CEP: 69.907-600
Fone: (0xx68) 223-4308 / 223-4358
E-mail: floresta@ac.gov.br
Secretaria de Estado de Obras Pblicas - SEOP
Wolvenar Camargo Filho (secretrio)
Rodovia AC-40 Km 0 - 2 Distrito
CEP: 69.901-180
Fone: (0xx68) 223-2636 / 223-2906
Secretaria Extraordinria da Juventude - SEJA
Leonardo Cunha de Brito (secretrio)
Rua Barbosa Lima, 380 - Base
CEP: 69.908-430
Fone: (0xx68) 244-1287 / 223-2752 / 224-4442
E-mail: juventude@ac.gov.br
Secretaria Extraordinria da Mulher - SEMULHER
Mara Regina Aparecida Vidal (secretria)
Av. Cear, 1364 - Centro
CEP: 69.900-460
Fone: (0xx68) 224-2548 / 224-7674 / 224-6387
E-mail: secretaria.semulher@ac.gov.br
583
rgos Ambientais
Instituies que Apiam o SEIAM no Estado do Acre
Alm dos rgos que compem a esfera do poder executivo estadual, o Sistema
Estadual de Informaes Ambientais do Estado do Acre conta com o apoio de vrias
outras instituies que contribuem com o repasse de informaes pertinentes s
reas de suas respectivas atuaes:
MINISTRIO PBLICO ESTADUAL DO ACRE - MPE
Email: cdmapi@mdnet.com.br
Site: www.mp.ac.gov.br
Endereo: Rua Mal. Deodoro, 360 - Centro - Rio Branco-AC
Telefone: (68)224-3376; 223-3730 Fax: (68)223-3698
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO BRANCO - SEMEIA
Email: semeia@mdnet.com.br
Site: http://www.pmrb.ac.gov.br/index2.php
Endereo: Rua Antnio da Rocha Viana, S/N, Horto Florestal - Rio Branco-AC -
Telefone: (68)228-2894 Fax: (68)228-3933
FUNDAO NACIONAL DO NDIO - FUNAI
Site: www.funai.gov.br
Endereo: PRod. BR-364, KM 01 - Estrada Dias Martins - Rio Branco-AC - Telefone:
(68)226-3858
INST. BRAS. DE M.A. E RECURSOS NAT. RENOVVEIS - IBAMA
Site: www.ibama.gov.br
Endereo: Rua Veterano Manoel de Barros, 320 - Jardim Nazle - Rio Branco-AC -
Telefone: (68)226-3212
INST. NAC. DE COLONIZAO E REFORMA AGRRIA - INCRA
Email: incraac@mdnet.com.br
Site: www.incra.gov.br
Endereo: Estrada do So Francisco, S/N - S. Francisco - Rio Branco-AC - Telefone:
(68)224-6497
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Email: reitoria@ufac.br Site: www.ufac.br
Endereo: Rod. BR-364, KM 04 - Rio Branco-AC
Telefone: (68)229-2244
EMP. BRAS. DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA
Email: sac@cpafac.embrapa.br
Site: www.cpafac.embrapa.br
Endereo: Rod. BR-364, KM-14 - Rio Branco-AC
Telefone: (68)224-3932 Fax: (68)224-4035
GRUPO DE TRABALHO AMAZNICO - GTA
Email: gtaacre@gta.org.br
Site: www.gta.org.br
584
Endereo: Rua Iracema, Q-8, C-11 - CJ Village - Vila Ivonete - Rio Branco-AC -
Telefone: (68)223-1264
Legislao Ambiental Estadual
Lei 9605/98 Crimes Ambientais
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ac3.html
Projeto de Gesto Ambiental Integrada - PGAI
O Projeto de Gesto Ambiental Integrada faz parte do Sub-Programa de Polticas de
Recursos Naturais (SPRN) , que parte integrante do Programa Piloto para a
Proteo das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7) do Ministrio do Meio
Ambiente(MMA), cujos objetivos so: (i) demonstrar a viabilidade de harmonizar o
desenvolvimento econmico e a proteo do meio ambiente nas florestas tropicais;
(ii) contribuir para a conservao dos recursos genticos das florestas tropicais; (iii)
reduzir a contribuio das florestas tropicais brasileiras na emisso de gs
carbnico, e (iv) proporcionar um exemplo de cooperao entre pases
desenvolvidos e em desenvolvimento em temas ambientais globais.
O objetivo geral do SPRN "contribuir para a definio e implementao de um
adequado modelo de gesto ambiental integrada para a Amaznia Legal, visando o
uso sustentvel dos recursos naturais". Os objetivos especficos do sub-programa
incluem:
1) implementao integrada das atividades de gesto ambiental -- zoneamento
ecolgico-econmico, monitoramento, controle ambiental ;
2) fortalecimento dos rgos estaduais de meio ambiente quanto a sua capacidade
de anlise e formulao de polticas, de regulamentao e de gesto ambiental;
3) apoio descentralizao da gesto ambiental do nvel federal para os nveis
estadual e municipal;
4) integrao das diversas entidades ambientais ao nvel estadual com os setores
pblicos e privados; e
5) a difuso da temtica ambiental, visando a participao da sociedade no processo
de definio da poltica ambiental.
Programa Nacional do Meio Ambiente II - PNMA II
Apresentao
O Programa Nacional do Meio Ambiente II (PNMA II) uma ao do Ministrio do
Meio Ambiente, que pretende atuar no fortalecimento das instituies que compem
o Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA e no incentivo gesto integrada
do meio ambiente com o objetivo geral de estimular a adoo de prticas
sustentveis entre os diversos setores cujas atividades impactam o meio ambiente,
alm de contribuir para o fortalecimento da infraestrutura organizacional e de
585
regulamentao do poder pblico, melhorando efetivamente a qualidade ambiental e
gerando benefcios socioeconmicos. A nvel estadual, o PNMA II dever envolver o
governo estadual e prefeituras municipais, alm das parcerias com organizaes
no governamentais, setor privado e instituies acadmicas, entre outros.
Componentes
Este Programa, objeto de acordo de emprstimo entre o Governo Brasileiro e o
Banco Internacional para Reconstruo e Desenvolvimento BIRD, est
basicamente estruturado em dois componentes:
Desenvolvimento Institucional; e
Gesto Integrada de Ativos Ambientais.
O Componente Desenvolvimento Institucional ainda subdivide-se em trs
subcomponentes: Licenciamento Ambiental, Monitoramento da Qualidade da gua e
Gerenciamento Costeiro. Nesse sentido, o PNMA II est estruturado da seguinte
forma:
O PNMA II est planejado para ser implementado, sob a Coordenao do Ministrio
do Meio Ambiente MMA, em trs fases sucessivas ao longo de dez anos. A
primeira fase, caracterizada pelo apoio aos estados para se qualificarem a
participar do Programa e assim apresentarem e executarem projetos,
prioritariamente de fortalecimento institucional. Na segunda e terceira fase, ser
dada continuidade execuo de projetos, com nfase para os relativos gesto
integrada de ativos ambientais.
Programa de Desenvolvimento Sustentvel do Acre - BID BR-0313
Objetivos:
O objetivo geral do Programa promover o crescimento econmico ambientalmente
sustentvel e a diversificao produtiva no Acre a fim de melhorar a qualidade de
vida da populao e preservar o patrimnio natural do Estado em longo prazo.
O Programa, elaborado com a participao de mais de 60 tcnicos do Estado do
Acre, com apoio do Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
586
e auxiliado por aproximadamente 40 Instituies e Organizaes no
Governamentais da Sociedade Acreana tem trs objetivos especficos:
a) modernizar a capacidade reguladora, administrativa e supervisora da mquina
pblica para assegurar o uso eficiente dos recursos naturais em longo prazo;
b) incrementar a rentabilidade econmica do setor silvoagropecurio e fomentar
investimentos produtivos estratgicos como mecanismo para elevar as taxas de
crescimentos econmicos o Estado do Acre, gerao de emprego e renda, bem
como melhorar os nveis de empregos existentes; e
c) elevar a qualidade, da infraestrutura pblica a fim de incrementar o nvel de
competitividade econmica do Acre. Estes trs objetivos sero alcanados
respectivamente com a execuo de trs componentes, descritos a seguir.
Componentes do Projeto
1 - Manejo Sustentvel e Conservao dos Recursos Naturais
1.1 - Administrao de terras, incluindo a criao do Instituto de Terras do Acre;
1.2 - Estabelecimento e manejo de reas protegidas;
1.3 - Apoio a preservao de culturas tradicionais (populao indgena)
2 - Apoio e difuso do desenvolvimento produtivo sustentvel e emprego
2.1 - Gerao e transferncia de tecnologia;
2.2 - Apoio s populaes tradicionais e pequenos produtores - Fundo Florestania;
2.3 - Defesa e inspeo sanitria;
2.4 - Manejo de recursos florestais;
2.5 - Promoo de negcios - Fundo para Promoo de Negcios.
3 - Infraestrutura Pblica de Desenvolvimento
3.1 - Asfaltamento da BR-364 (Sub-trecho Tarauac/Rio Liberdade);
3.2 - Melhoramento da rede fluvial;
3.3 - Energia para comunidades isoladas.
Custo do Projeto
O Governo Brasileiro, atravs da COFIEX - Comisso de Financiamento Externo, em
sua Resoluo n 540 de 26 de outubro/2000 aprovou um montante de US$ 240
milhes em duas fases. O Governo do Estado do Acre decidiu, aps diversas
negociaes, concludas no final de fevereiro/2002, financiar nessa primeira fase
US$ 108 milhes, com prazo de execuo de at 4 anos, podendo ser reduzido de
acordo com o andamento do Projeto. A 2 fase poder ser iniciada a partir da
utilizao de 50% dos recursos da 1 fase. A garantia do emprstimo
exclusivamente o Fundo de Participao dos Estados (FPE), autorizado pela
Assemblia Legislativa (Lei 1.420 de 16 de dezembro/2001). O Emprstimo tem o
aval do Governo Federal atravs do Ministrio da Fazenda e Ministrio do
Planejamento Oramento e Gesto, que firmaro com o Governo do Estado o
Contrato da Operao.
Normas e Legislao Pertinentes ao Projeto
587
Resoluo n 43 do Senado Federal, de 21 de dezembro/2001 e seus
substitutivos;
Portarias e Normativos da Secretaria do Tesouro Nacional e Ministrio do
Planejamento Oramento e Gesto para contratao de operaes externas e
internas;
Lei Estadual n 1.426 de 27 de dezembro/2001 - Lei Florestal;
Lei Estadual n 1.420 de 18 de dezembro/2001 - Autorizao da Assemblia
Legislativa para Operao com o BID;
Resoluo da COFIEX (Comisso de Financiamento Externo) n 540 de 26 de
outubro/2000;
Contrato de Ajuste Fiscal, firmado em 04 de maio/2000 entre o Governo do
Estado e Ministrio da Fazenda/STN.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econmico Sustentvel do
Estado do Acre - SEPLANDS.
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ac4.html
A geomorfologia, enquanto cincia, estuda as formas de relevo, os processos
endgenos e exgenos ocorridos e sua evoluo. Aplica-se a geomorfologia nas
reas rurais e urbanas, nos projetos de rodovias, ferrovias e na manuteno e
conservao de estradas, entre outros.
A estrutura geomorfolgica do Estado do Acre est representada pelas seguintes
unidades morfoestruturais:
Depresso Amaznica
Planalto Rebaixado (da Amaznia Ocidental)
Plancie Amaznica
Depresso Amaznica
Trata-se de uma extensa superfcie rebaixada, que se estende desde o meridiano de
Greenwich (de forma descontnua) na direo Oeste e Noroeste ultrapassando
fronteiras nacionais.
O relevo marcado por colinas, embora ocorram relevos com cristas, interflvios
tabulares e em reas restritas, montanhosos, em especial na fronteira com o Peru,
onde formam o Complexo Fisiogrfico da Serra do Divisor recoberto por Floresta
Densa.
588
As altitudes chegam no mximo a 300 m nas plancies de Idade Terciria e at 580
m no Complexo Fisiogrfico da Serra do Divisor.
Planalto Rebaixado
Localiza-se ao longo do Rio Juru e do Rio Iaco e corresponde aos baixos plats
que margeiam a plancie do rio Amazonas. Formado por litologias da Formao
Solimes e cobertura vegetal de Floresta Densa e Campinarana, sua altitude
mdia de 250 m.
Plancie Amaznica
Composta por faixas que margeiam os grandes rios do Estado e alargam-se na
direo da foz. Apresenta reas alagadas, de inundao e grande quantidade de
lagos; estes presentes no Rio Juru e no Purus. A Floresta Aberta Aluvial com
Palmeiras recobre esta unidade morfoestrutural.
Destacam-se como formas de relevo no Estado do Acre:
Formas Erosivas (Plancie Amaznica): representadas pelos terraos fluviais
altos (patamares esculpidos pelo rio); sua declividade voltada para o leito fluvial.
Formas de Acumulao (Plancie Amaznica):
Plancies fluviais aplainada, resultado da acumulao fluvial peridica ou
permanentemente alagada.
Plancies e terraos fluviais mdios e baixos aplainada, resultado da acumulao
fluvial sujeita a inundaes peridicas e eventualmente alagada.
Forma de Dissecao (Depresso Amaznica e Planalto Rebaixado):
resultaram trs formas aps a dissecao agrupadas da seguinte maneira:
Colinas relevo de topo pouco convexo.
Cristas relevo de topo contnuo e aguado.
Interflvios tabulares relevo de topo aplainado.
Clima
De acordo com a Classificao de Kppen, o clima acreano do tipo Am. Equatorial,
quente e mido, com temperaturas mdias anuais variando entre 24,5C e 32C
(mxima), permanecendo uniforme em todo o estado e predominando em toda a
regio amaznica. Porm, em funo da maior ou menor exposio aos sistemas
extratropicais, as temperaturas mnimas podem variar de local para local.
Ocorrem duas estaes distintas: uma seca e uma chuvosa.
Durante a estao seca, que se inicia no ms de maio prolongando-se at o ms de
outubro, desaparecem as chuvas, sendo comuns as friagens. Estas so resultantes
do avano de uma Frente Polar impulsionada por uma Massa de Ar Polar Atlntica
que avana pela Plancie do Chaco at a Amaznia Ocidental provocando queda de
temperatura (10C).
589
A estao chuvosa, o inverno para os habitantes do Acre, ocorre de novembro a
abril, sendo caracterizado por chuvas constantes e abundantes.
A temperatura mdia do ms mais frio gira acima dos 18C. Grandes oscilaes
ocorrem no decorrer do ano. A umidade relativa do ar atinge 80-90%, ndice
bastante elevado se comparado ao de outras regies brasileiras. J os ndices
pluviomtricos variam de 1.600 mm a 2.750 mm/ano, com tendncia a aumentar no
sentido Sudeste-Noroeste.
Junho, julho e agosto so os meses menos chuvosos; em contrapartida nos demais
meses do ano as chuvas so abundantes sem uma ntida estao seca.
Vale ressaltar que a vegetao local no sofre um atraso em seu metabolismo
durante as friagens, pois tarde a temperatura tm uma elevao significativa,
compensando e no constituindo-se em fator limitante para o crescimento da
vegetao.
Geologia
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ac5.html
O Estado do Acre, do ponto de vista geolgico, caracteriza-se como uma resultante
da ao de processos tectnicos e paleoclimticos ocorridos em eras geolgicas
distintas, provocando eroso e posterior sedimentao destes detritos.
Durante o processo de evoluo geolgica local, distinguiram-se trs regies
geolgicas:
Serras Rio Branco, Juru-Mirim, Moa e Jaquirana: constituem o Complexo
Fisiogrfico da Serra do Divisor; formadas por sedimentos do Cretceo
(principalmente), Pr-Cambriano e Paleozico.
reas de relevo mais suave: distribuem-se na maior parte do estado,
apresentando sedimentos das formaes Ramon e Solimes.
reas aluviais: compem esta rea os terraos fluviais e as reas aluvionares.
Com o passar das eras, perodos e pocas, as formaes geolgicas originais
sofreram modificaes devido a epirogneses, transgresses, diastrofismos e outros
eventos ocorridos na regio de onde resultaram litologias distintas em cada poca.
Era Perodo poca Formao Litologias
Cenozico Quaternrio
Holoceno
Aluvies
Holocnicos
[Qa] Sedimentos
inconsolidados de plancies
fluviais recentes e atuais.
[Qa] Aluvio indiferenciado
em terraos fluviais.
590
Pleistoceno
Cruzeiro do
Sul
[Qpcs] Arenitos finos a
mdios, friveis, com
intercalaes de argilitos e
areias (aa).
Solimes
[Tqs] Argilitos silticos e
siltitos, macios ou
finamente laminados, com
concrees carbonferas e
gipsticas. [ar] Arenitos
finos, micceos.
Plioceno
Soerguimento da
Cordilheira Andina
Tercirio
Mioceno
Paleoceno
Ramon
'[Tr] Argilitos, siltitos e
folhelhos intercalados por
camadas calcreas.
Subordinadamente,
arenitos e folhelhos
calcferos.
Mesozico Cretceo Maestrichtiano Divisor*
Solos
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ac6.html
A princpio, imaginou-se que os solos da regio acreana seriam se no o melhor, um
dos melhores para a explorao agropecuria de toda a regio amaznica.
Aos poucos descobriu-se que se tratavam de solos de origem sedimentar, ou seja, a
concentrao de materiais decompostos (areia) era alta, alm de existirem certas
restries para o uso agropecurio.
Restries morfolgicas: estruturas solidificadas (concrees) e estruturas com
certo teor de matria orgnica (argila sedimentar, mole), tabatinga.
Restries fsicas: mudana de textura e baixa permeabilidade.
Restries qumicas: baixo contedo de fsforo, baixa capacidade de reter
ctions e alto nvel de acidez.
Em comparao com o ltimo levantamento de solos realizado nos anos de
1976/1977, pelo RADAMBRASIL, o novo Sistema Brasileiro de Classificao de
Solos, segundo a EMBRAPA, 1999, apresenta as seguintes diferenas quanto a
nomenclatura das classes de solo:
591
RADAMBRASIL (1976/1977)
Sistema Brasileiros de Classificao de
Solos- EMBRAPA (1999)
Podzlico vermelho amarelo lico Ta Alissolos
Cambissolos Cambissolos
Glei Hmico e glei pouco hmico Gleissolos
Latossolo vermelho amarelo, latossolo
vermelho escuro
Latossolos
Podzlico vermelho escuro Nitossolos
Podzlico vermelho amarelo Tb,
podzlico vermelho amarelo plintico Ta
Argissolos
Podzlico vermelho amarelo eutrfico
Ta
Luvissolos
Solos aluviais, areias quartzosas,
litossolos
Neossolos
Brunizem avermelhado Chernossolos
Vertissolos Vertissolos
Alissolos
Solos constitudos por material mineral caracterizados pela diferena de argila em
atividade.
Cambissolos
Pouco profundos ou rasos; ausncia de argila acumulada. So moderadamente
drenados apresentando carter alumnico.
Gleissolos
Solos permanentemente saturados por gua, exceto quando drenados. So
caracterizados pela forte gleizao, ocasionalmente podem ter textura arenosa.
Latossolos
Apresentam avanado estgio de intemperizao, pois so destitudos
(virtualmente) de minerais primrios e secundrios; normalmente so muito
profundos.
Nitossolos
Composto por material mineral com argila de baixa atividade. Geralmente so de
moderadamente cidos a cidos; profundos e bem drenados.
Argissolos
Caracterizam-se pela baixa atividade da argila; so considerados de forte a
moderadamente cidos.
Luvissolos
Tratam-se de solos minerais, no hidromrficos, com argila em alta atividade.
Podem variar de bem a imperfeitamente drenados, sendo pouco profundos
Neossolos
592
So solos constitudos por material mineral ou orgnico pouco espessos (30 cm).
No modificam seu material originrio por apresentarem resistncia ao
intemperismo, a composies qumicas e tambm devido ao relevo que pode
impedir ou limitar sua evoluo.
Chernossolos
Normalmente pouco coloridos; quanto drenagem, podem ser bem ou
imperfeitamente drenados. So solos de moderadamente cidos a fortemente
alcalinos, predominando o clcio e o magnsio em sua composio.
Vertissolos
So solos compostos por material mineral com horizonte vrtico entre 25 e 10 cm
de profundidade. Variam de pouco profundos a profundos com ocorrncia de solos
rasos.
As classes de solo acima citadas ocupam diante da rea do estado e em percentuais
a seguinte proporo:
Classe de Solo rea ocupada no Estado Percentual Ocupado
Alissolos 215.150.5 1,4
Cambissolos 3.686.550.2 24,2
Gleissolos 1.135.262.2 7,4
Latossolos 291.445.0 1,9
Nitossolos 115.967.6 0,8
Argissolos 9.765.696.0 64
Luvissolos 62.561.5 0,4
Neossolos Nada Consta Nada Consta
Chernossolos Nada Consta Nada Consta
Vertissolos Nada Consta Nada Consta
Em suma, a geologia e a geomorfologia iro caracterizar os solos mantendo uma
estreita relao com a paisagem, seja esta natural ou inserida pelo homem.
Vegetao
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ac7.html
Conforme a classificao realizada pelo Projeto RADAMBRASIL em 1977, o Estado
do Acre apresenta duas grandes Regies Fitoecolgicas, porm, uma terceira menor
que as outras se faz presente.
Domnio da Floresta Ombrfila Densa
593
Domnio da Floresta Ombrfila Aberta
Campinarana (a menor)
As duas primeiras esto localizadas na regio dos Baixos Plats da Amaznia, no
Planalto Rebaixado da Amaznia Ocidental e na Regio Aluvial da Amaznia; j a
Campinarana ocorre na poro noroeste do estado, mais precisamente ao norte de
Cruzeiro do Sul.
Seguem-se as tipologias florestais encontradas no Estado do Acre, algumas j
identificadas e confirmadas por imagens de satlite; outras, necessitando de uma
maior estudo.
Floresta Aberta com Bambu Dominante
Ocupa 9,40% da rea do estado. Concentra bambus, os quais alcanam o dossel e
acabam dominando a vegetao. Certas reas apresentam menor concentrao de
bambus e um aumento no nmero de indivduos arbreos.
Floresta Aberta com Bambu mais Floresta Aberta com Palmeiras
Representa 26,20% da rea estadual. composta por trs fisionomias: floresta
aberta concentrando bambus, floresta aberta com palmeiras e pequenas manchas
de floresta densa.
Floresta Aberta com Palmeiras das reas Aluviais
Concentra-se em 5,48% do territrio acreano. A floresta apresenta dossel aberto
onde espcies de palmeiras so encontradas. A seringueira (Hevea brasiliensis
Muel Arg) concentra mais indivduos nesta fisionomia do que em outras.
Floresta Aberta com Palmeiras
7,77% da regio ocupada por esta fisionomia. Caracterizada com floresta de
dossel aberto, apresenta palmeiras e cips em algumas reas, bem como clareiras
naturais. A exemplo da fisionomia anterior, nesta a seringueira tambm ocorre em
maior nmero.
Floresta Aberta com Palmeiras e Floresta Densa
Ocupa 12,12% da rea, apresentando clareiras onde ocorre a presena de
espcies de palmeiras. Observam-se tambm espcies de castanheira e cedro
vermelho.
Floresta Densa mais Floresta Aberta com Palmeiras
Representa 7,20% da rea, com trs estratos definidos: estrato superior
indivduos com 35 a 40 metros de altura (aberto); estrato mdio (fechado) e estrato
inferior (aberto ou limpo).
594
Florestas Aberta com Palmeiras mais Floresta Aberta com Bambu
rea ocupada: 21,02%. Apresenta baixo nmero de amostras, o que diminui a
confiabilidade nos resultados de rea basal, volume e abundncia estes dois
ltimos possibilitando ressalvas.
Floresta Aberta com Bambu em reas Aluviais
Ocupa 2,04%; classificada desta maneira por apresentar tonalidade semelhante
Floresta Aberta com Bambu Dominante, porm, ainda no se pode garantir com
certeza a sua existncia; faz-se necessrio mais um inventrio a campo.
Floresta Densa
Totaliza 0,53% da rea. Caracteriza-se por apresentar rvores com 50 m de altura
aproximadamente. A regenerao arbrea considervel em diferentes situaes
topogrficas. Um maior nmero de espcies arbustivas e palmceas ocorre nos
talvegues; nos dissecados em cristas e colinas o estrato superior atinge algo
prximo a 30 metros.
Floresta com Bambu mais Floresta Densa
Corresponde a 0,36%. Trata-se de uma floresta mista; grande a concentrao de
bambus apresentando tambm manchas de floresta densa e floresta com
palmeiras em menor quantidade.
Floresta Densa Submontana
0,47% da rea apresenta esta tipologia florestal. Composta por rvores de grande
porte, os indivduos desta espcie distribuem-se densamente. A ocorrncia de
rvores cuja altura se aproxima dos 35 m tambm se faz presente; nas superfcies
dissecadas a cobertura uniforme com alturas aproximadas de 30 metros.
reas Desmatadas
7% da rea do Estado foi alterada. Trata-se de reas ao longo de estradas, ramais,
rios, igaraps e cidades. So reas degradadas pela ao do homem com ou sem
propsito lgico. No interior das florestas tambm podem ser encontradas clareiras
de desmatamentos.
595
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ac9.html
Vislumbra-se o turismo acreano como uma forma para que haja desenvolvimento
local sustentado e integrado, tendo em vista a potencialidade e a fragilidade das
paisagens naturais e culturais da regio. Quanto a fragilidade da paisagem, esta diz
respeito a incidncia de atuaes; se a capacidade de absoro de alteraes for
maior, menor ser a fragilidade.
Diante da grande diversidade paisagstica, considera-se a biodiversidade do estado
do Acre como uma das maiores do planeta, apresentando uma cultura nica, fruto
da ocupao local.
Inegvel neste caso o potencial ecoturstico, o qual se volta para uma redefinio
do uso dos recursos buscando uma maior valorizao tanto no aspecto cultural
como natural atraindo investimentos para a rea. Com esta finalidade foram criados
plos tursticos.
Plo do Vale do Juru
Compem este plo as reas protegidas como as Unidades de Conservao,
Reservas extrativistas, Projetos de assentamento agroextrativistas, Terras
indgenas, reas de entorno das unidades de conservao, reas de reserva legal e
reas de preservao permanente e seu entorno.
Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD)
Localiza-se no extremo oeste do estado, h aproximadamente 700 km da capital,
tendo como rea 843 mil hectares.
Apresenta riqussima fauna e flora incrementada com densa rede fluvial
potencializando o turismo. A diversidade paisagstica do parque acrescido de sua
topografia, das formaes geolgicas cujas idades e composies diferem,
exemplificando, a Formao Ramon - nica na Amaznia.
Igaraps na rea entorno do parque transformaram-se em atrativos tursticos, dentre
eles: Igarap Preto, Igarap Sacada da Alemanha e Igarap Canhoto.
Em termos culturais destacam-se:
Catedral de Nossa Senhora da Glria Estao do Porto
Frum da Comarca Instituto Santa Terezinha
A ocorrncia de rios neste plo turstico constitui um atrativo a mais, alm da
contemplao da paisagem, observao de animais, pssaros aquticos etc. Nas
pocas chuvosas o rio Juru pode ser navegado por grandes embarcaes,
enquanto que, nas secas pequenas e mdias embarcaes passam por ali
apreciando os lagos marginais que se formam.
596
Plo do Vale do Acre
Destacam-se neste plo os rios Acre, Xapuri e Abun, rios caudalosos propcios
para a prtica da canoagem, pesca e lazer de praia, sendo as principais a praia do
Amap, do Riozinho do Rola, do Caruta, do Inferno e do Zaire.
Integram este plo algumas reservas extrativistas, cada qual com suas
particularidades.
Reserva Extrativista Chico Mendes
rea: 976.570 ha, 6,34% da rea do estado
Localizao: municpios do Rio Branco, Capixaba, Xapuri, Brasilia, Sena
Madureira e Assis Brasil.
Atrativos: natureza amaznica; cultura extrativista e ribeirinha; trilhas com
acompanhamento de seringueiros, mateiros/condutores; coleta de castanha (janeiro
a maro); corte da seringa; defumao da borracha; observao da fauna; outras
prticas de subsistncia; ecoturismo; turismo cientfico e cultural.
Seringal Extrativista Pimenteira
rea: centro comunitrio com cinco famlias
Localizao: dista duas horas de Xapuri
Atrativos: infra-estrutura para receber visitantes; trilhas em seringais; observao
das prticas culturais e de subsistncia; turismo cultural e cientfico; estrutura para
reunies comunitrias, educao ambiental etc.
PAE Chico Mendes - Colocao Cachoeira
rea:
Localizao: 30 minutos de Xapuri
Atrativos: possui infra-estrutura para receber dezenas de turistas, em sua maioria
buscando conhecer o local onde nasceu e viveu Chico Mendes; promove-se a
educao ambiental atraindo estudantes, pesquisadores entre outros. Quem passa
pelo local tm a oportunidade de caminhar por trilhas em seringais, participar da
coleta da castanha e observar a defumao da borracha.
Por estar muito prximo da fronteira com o Peru, muitos de seus turistas aventuram-
se por l, especialmente em Cuzco, Pucalpa e Puerto Maldonado considerados
centros ecotursticos. Tambm o Acre est inserido neste contexto de plos
ecotursticos; Rio Branco, Plcido de Castro, Porto Acre, Brasilia e Xapuri fazem
parte, cada qual com suas particularidades: prdios histricos, museus e
monumentos, os quais resgatam a memria do povo seringueiro.
597
Rio Branco
Parque Municipal Ambiental Chico Mendes Horto Florestal
Parque Capito Ciraco Parque Zoobotnico
Colnia Cinco Mil Lago do Amap
Praia da Base Museu da Borracha
Sociedade Recreativa Tentamen Anfiteatro Garibaldi Brasil
Teatro Plcido de Castro
Conservatrio de Msicas Maestro
Neves
Palcio Rio Branco Catedral Nossa Senhora de Nazar
Igrejinha de Ferro Gameleira
Casa do Seringueiro Sala Hlio Melo
EXPOACRE - Feira de Exposio do Estado
do Acre
Feira do Artesanato e Comidas
Tpicas
FLORA - Feira de Produtos da Floresta do
Acre
Por sua vez, a culinria do Acre apresenta-se bastante rica em frutas, sofrendo
influncia nordestinha, paraense, boliviana e rabe. Pratos locais: pato no tucupi,
carne-de-sol acompanhado de baio de dois, panelada, galinha picante, caldeirada,
charuto, rabada no tucupi, galinha a cabidela, tacac, saltenha, quibe de trigo, arroz
e macaxeira, buchada de carneiro, tapioca com castanha tudo isto acompanhado
das bebidas tpicas - xarope de guaran, caiuma, cajuna, alu, caldo-de-cana,
suco de frutas locais (cupuau, graviola, jenipapo, bacaba, aa, caj).
Plcido de Castro
Localiza-se na poro leste do Estado estando distante 97 km da capital, tendo
como rea cerca de 2.972 km (1,95% da rea estadual).
Sua proximidade com a Zona de Livre Comrcio boliviana atrai muitos turistas
tornando-o plo turstico. Apresenta como opo ecoturstica o Parque Natural
Municipal do Seringueiro, 34 hectares de floresta abrigando exemplares da fauna e
flora local (castanheiras, seringueiras, angelim, catuabas, bacabas, mogno, cacau
silvestre e patos); Rplica da Casa do Seringueiro, onde retratada a vida do povo
local atravs de seus utenslios dirios.
Xapuri
Est a 188km de Rio Branco apresentando condies favorveis para a implantao
de um Centro de Excurses em sua rea de 8.137km. Atrativos como a Reserva
Extrativista Chico Mendes - rea natural que marca a preservao ambiental e o
desenvolvimento sustentvel local; o prprio municpio, por ter sido palco inicial da
Revoluo Acreana (anexou o Acre ao territrio brasileiro); diversas praias fluviais
como a Praia do Zaire e outros pontos tursticos, a saber:
598
Cachoeira dos Padres Fonte do Bosque
Museu Casa Branca Esttua de So Sebastio
Igreja de So Sebastio
Brasilia
Situa-se na fronteira ao sul com Cobija, prximo da Zona de Livre Comrcio da
Bolvia. Est a 230km de Rio Branco tendo como rea municipal 3.885km.
Como mencionado, a proximidade com a fronteira (Bolvia) permite o acesso de
muito turistas em busca de artigos estrangeiros, das praias (praia da Bahia e do
Adolfo) com uma extenso mdia de 500 metros e tambm dos que seguem rumo a
Cuzco, no Peru.
599
ESTADO DO AMAP
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/ap.html
Histria, Povoamentos e Colonizao
Doada em 1637 ao portugus Bento Manuel Parente, a regio era conhecida como
capitania da Costa do Cabo do Norte. Ingleses e holandeses incursionavam regio
naquele mesmo sculo e foram expulsos pelos portugueses.
Os franceses, por sua vez (sc. XVIII), reivindicaram a posse da rea que teve seus
limites estabelecidos em 1713 pelo Tratado de Utrecht (definiu limites entre Brasil e
Guiana Francesa), no respeitados pelos franceses, e, buscando proteger seus
limites, os portugueses construram a fortaleza de So Jos de Macap.
A partir do sculo XIV, com a descoberta do ouro e o crescimento da extrao da
borracha, o povoamento intensificou-se.
Localizao e rea Territorial
Est localizado no extremo norte do Brasil (poro
nordeste), ocupando uma rea de 143.453,7 km2,
limitando-se:
Norte: Guiana Francesa
Nordeste: Suriname
Leste: Oceano Atlntico
Sul: Par
Oeste: Par
Dados do Censo 2000 apontam 475.843 habitantes
distribudos nos 16 municpios existentes no Amap, dentre
os municpios mais populosos esto a capital Macap e
Santana.
Sua localizao privilegiada garante uma grande diversidade de ecossistemas como:
amaznico, guianense e ocenico alm dos campos inundveis, mangues, cerrados
e florestas virgens.
600
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ap1.html
601
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rap.html
602
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hap.html
603
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/iap.html
Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ap2.html
Governador: Waldez Ges
Vice-governador: Pedro Paulo Dias de Carvalho
Av. Procpio Rola, 137
CEP: 68.906-010
Fone: (0xx96) 212-1139
Fax: (0xx96) 212-1140
E-mail: vicegov-ap@uol.com.br
604
Secretarias de Estado
Secretaria de Estado de Administrao - SEAD
Carlos Alberto Sampaio Canturia (secretrio)
Av. Fab, 87
CEP: 68.906-260
Fone: (0xx96) 212-2100
Fax: (0xx96) 212-2141
E-mail: sead@prodap.org.br
Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Abastecimento - SEAF
Paulo Leite de Mendona (secretrio)
Av. Fab, 85
CEP: 68.906-000
Fone: (0xx96) 212-9500 / 9501
Fax: (0xx96) 212-9504
E-mail: seaf@prodap.org.br
Secretaria de Estado da Comunicao - SECOM
Olimpio Tavares Guarani (secretrio)
Palcio do Setentrio
Rua General Rondon, 259
CEP: 68.906-130
Fone (0xx96) 212-1112 / 1169 / 1109
Fax: (0xx96) 212-1108 / 1104
E-mail: dcs@gabcivil.ap.gov.br
Secretaria de Estado da Educao - SEED
Maria Vitria da Costa Chagas (secretria)
Av. Fab, 96
CEP: 68.906-000
Fone: (0xx96) 212-5102
Fax: (0xx96) 212-5274
E-mail: educacao@seed.ap.gov.br
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Artur de Jesus Barbosa Soto (secretrio)
Av. Procpio Rola, 90
CEP: 68.906-000
Fone: (0xx96) 212-3100
Fax: (0xx96) 212-3104
E-mail: gab.sefaz@uol.com.br
Secretaria de Estado de Infra-estrutura - SEINF
Gervsio Oliveira (secretrio)
Av. Fab, 1276
CEP: 68.906-000
Fone: (0xx96) 212-7101 / 7177 / 7103
Fax: (0xx96) 212-7104
E-mail: uiseinf@prodap.org.br
605
Secretaria da Indstria, Comrcio e Minerao - SEICOM
Jurandyl dos Santos Juarez (secretrio)
Av. Ananery, s/n 18 - Laguinho
Prdio da Rede Vida - 2o. Andar
Fone: (0xx96) 212-5400 / 5402
Fax: (0xx96) 212-5411
E-mail: seicom@seicom.ap.gov.br
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA
Edvaldo de Azevedo Souza (secretrio)
Av.Mendona Furtado, 53
CEP: 68.900-060
Fone: (0xx96) 212-5301
Fax: (0xx96) 212-5303
E-mail: gabinete@sema.ap.gov.br
Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN
Joel Nogueira Rodrigues (secretrio)
Av. Fab, 83
CEP: 68.906-000
Fone: (0xx96) 212-4100 / 4107
Fax: (0xx96) 212-4104
E-mail: seplan@seplan.ap.gov.br
Secretaria de Estado da Sade - SESA
Sebastio Ferreira Rocha (secretrio)
Av. Fab, 69
CEP: 68.906-000
Fone: (0xx96) 212-6100 / 6101
Fax: (0xx96) 212-6102
E-mail: ui@saude.ap.gov.br
Secretaria de Estado de Segurana Pblica - SEJUSP
Eder Geraldo de Abreu (secretrio)
Av. Procpio Rola, 162
CEP: 68.906-000
Fone: (0xx96) 212-8172
Fax: (0xx96) 212-8172
E-mail: sejusp@sejusp.ap.gov.br
Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania - SETRACI
Maria Ansia Nunes (secretria)
Av. Fab, s/n
CEP: 68.906-010
Fone: (0xx96) 212-9100
Fax: (0xx96) 212-9104
E-mail: setraci@setraci.ap.gov.br
Secretaria de Estado da Cincia e Tecnologia - SETEC
Jos Maria da Silva (secretrio)
Av. Presidente Vargas, 271 - 2o. Andar
CEP: 68.900-070
606
Fone: (0xx96) 212-5600
Fax: (0xx96) 212-5600
E-mail: gea.setec.ap@uol.com.br
Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP
Odival Monterrozo Leite (secretrio)
Rod. Br. 210 KM 0 - So Lzaro
CEP: 68.906-130
Fone: (0xx96) 212-7187
Fax: (0xx96) 251-7185
E-mail: detrap@tvsom.com.br
rgos Ambientais
- Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente - CEMA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
- Procuradoria da Repblica no Estado do Amap PR/AP
g) Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ap3.html
Projeto de Capacitao Ambiental - PCA
O PCA no contexto do Amap
Capacitar para identificar e minimizar problemas ambientais
O Programa de Capacitao Ambiental - PCA foi institudo para auxiliar as
organizaes dos estados amaznicos a enfrentar e resolver os crescentes
problemas ambientais da regio. Para isso, oferece cursos e outras atividades de
capacitao, tais como intercmbio de experincias, disseminao de informaes e
assessoria tcnica na rea ambiental.
O objetivo deste Programa apoiar as aes de capacitao do Subprograma de
Polticas de Recursos Naturais - SPRN, atravs do Programa de Gesto Ambiental
Integrada - PGAI/Amap, assim como do Programa de Desenvolvimento Sustentvel
do Amap - PDSA e, consequentemente o Programa Estadual de Gesto Ambiental
- PEGA.
O Estado definiu uma estratgia de utilizao dos recursos do PCA a partir da
realizao de um Workshop, em julho de 2001. O workshop foi realizado com a
participao da sociedade civil e setores governamentais (federal, estadual e
municipal) envolvidos na temtica ambiental. O Programa vem sendo executado no
Estado desde o final de 1999 e terminar em 2003.
607
A estratgia do Programa no Estado visa fortalecer a gesto municipal, atravs do
processo de descentralizao das atividades relacionadas rea ambiental, assim
como a gesto de projetos que visem o desenvolvimento sustentvel com a
participao efetiva da sociedade civil. Espera-se, ainda, que o Programa estimule a
formao de valores e responsabilidades relacionadas proteo do meio ambiente.
O Programa tem como meta ampliar suas aes, destinando 45% de seus recursos
sociedade civil, 30% aos municpios e 20% ao estado, como apoio ao processo de
capacitao.
Estrutura administrativa:
Reunindo esforo e recursos para acelerar o processo no Estado
O Programa de Capacitao Ambiental coordenado pela Secretaria de
Coordenao da Amaznia - SCA, do MMA, por meio de uma Coordenao
Nacional. No Estado, as atividade do PCA so gerenciadas pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente - SEMA, atravs da Coordenao Estadual. As atividades
do PCA so realizadas em cooperao com duas Instituies Executoras: o Centro
de Formao de Recursos Humanos - CEFORH e o Servio de Apoio s Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE. Apia tambm as aes do Servio Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR.
A estrutura do PCA no Estado permite, portanto, uma slida integrao entre os
principais interessados na capacitao e aqueles que podem viabiliz-la. A ao
desses participantes conta tambm com o apoio de representantes locais do MMA e
do DFID.
Caractersticas da capacitao:
Metodologia de Capacitao
Na metodologia de capacitao utilizada pelo Programa, destacam-se as seguintes
diretrizes:
utilizar, sempre que possvel, professores da regio, de forma a aproveitar e
valorizar o saber local;
construir conhecimentos conforme as necessidades vivenciadas pelos rgos
Beneficirios;
desenvolver metas locais de capacitao com os beneficirios;
disponibilizar material didtico especfico e apropriado condio do participante;
empregar, sempre que possvel, metodologias participativas e que formem
multiplicadores;
priorizar contedos que revelem oportunidades de reduzir a pobreza, diminuir a
desigualdade entre as minorias e gneros, enfatizar a sustentabilidade nas
atividades produtivas, na sade e meio ambiente e melhor qualidade de vida;
disseminar amplamente conhecimentos gerados pelo Programa e promover o
intercmbio de experincias entre os estados, e;
608
utilizar o processo de monitoramento e avaliao do PCA de forma participativa,
disseminando os resultados dessas informaes.
Como participar do PCA
O quatro passos bsicos
1 - O rgo Beneficirio interessado deve contatar a Coordenao Estadual do
PCA, na SEMA, cadastrando-se no Sistema Informatizado do PCA.
2 - Pode ento, iniciar um projeto de atividades, definindo suas necessidades
especficas de capacitao, objetivos, justificativas e pblico-alvo, de acordo com o
modelo disponvel no Sistema Informatizado.
3 - O Comit de Avaliao de Propostas de Capacitao analisa o projeto de
atividades, e o prioriza de acordo com essa estratgia do PCA no Amap.
Encaminha-os oportunamente instituio executora para o desenvolvimento e
execuo.
4 - O rgo Beneficirio deve participar ativamente deste processo, acompanhando
a insero do curso no programa de execuo.
rgos Beneficirios - OB:
Incentivo Participao
O PCA prioriza a sociedade civil, municpios e rgos estaduais, que atuam ou
interagem com o meio ambiente no Estado do Amap.
Os rgos Beneficirios propem o tipo de capacitao que necessitam, bem como
os participantes. As atividades so desenvolvidas por meio de um processo
participativo entre o rgo Beneficirio, a Coordenao Estadual do PCA, a
Instituio Executora e Instrutores previamente escolhidos por seus conhecimentos
na rea temtica.
Fonte: http://www.sema.ap.gov.br/projetoseprogramas/pca.shtml
Projeto Gesto Ambiental Urbana no Amap
O que a GTZ:
A "Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit - GTZ", conhecida no
Brasil como Sociedade Alem de Cooperao Tcnica, uma empresa sem fins
lucrativos, tendo como funo o apoio a projetos nos pases em desenvolvimento.
Ela atua geralmente por encargo do Ministrio Alemo da Cooperao Econmica e
Desenvolvimento (BMZ), na base de convnios feitos entre os governos. Alm disso,
a GTZ executa tambm projetos financiados por terceiros.
A Cooperao Tcnica Brasil-Alemanha enfoca duas reas prioritrias de atuao:
Desenvolvimento Regional Integrado em Regies Desfavorecidas e Proteo
Ambiental e Manejo Sustentvel dos Recursos Naturais.
609
A primeira rea prioritria inclui os projetos de combate pobreza em reas urbanas
e rurais de baixa renda (Projetos Prorenda), e projetos de aumento da
competitividade e produtividade nas pequenas e mdias empresas brasileiras. J a
rea prioritria Proteo Ambiental e Manejo Sustentvel dos Recursos Naturais
inclui o programa de Proteo Ambiental Urbano-Industrial e a participao no
Programa Piloto para a Proteo das Florestas Tropicais no Brasil (PP/G-7).
A GTZ apoia o planejamento, a implementao e o monitoramento de projetos,
colocando disposio treinamento tcnico-gerencial e equipamentos. A GTZ
contribui fomentando a auto-ajuda para a construo do Desenvolvimento
Sustentvel.
Melhorando a situao urbano-ambiental em Macap e Santana:
O Projeto Gesto Ambiental Urbana no Amap
Situao inicial:
Como na maioria das cidades da regio Norte do Brasil, os problemas de gesto
ambiental urbana em Macap e Santana podem ser caracterizados por um deficiente
gerenciamento do lixo e esgoto, e por problemas no abastecimento de gua. Em
consequncia, a populao urbana sofre de um sistema precrio de saneamento
bsico, que se traduz em problemas de sade ambiental. Problemas de sade
pblica se manifestam ainda mais nas chamadas ressacas urbanas, reas
periodicamente alagadas, onde se encontram a maioria das reas de baixa renda -
uma situao tpica em centros urbanos na Amaznia.
O Objetivo:
Melhorar o meio ambiente e o saneamento nas cidades de Macap e Santana,
contribuindo para condies mais saudveis de viver. O Projeto apoia organizaes
governamentais e ONGs, para que estas implementem, em cooperao, medidas
localmente apropriadas de Gesto Ambiental Urbana. Para que isto acontea, o
Projeto concentra o seu trabalho na rea de gerenciamento de resduos slidos e
educao ambiental urbana.
Durao da primeira fase:
Maro 2000 a Agosto 2003
Contrapartes:
SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amap)
PMM (Prefeitura Municipal de Macap)
PMS (Prefeitura Municipal de Santana)
610
Onde Acontece:
Macap - a capital do Estado do Amap - e a vizinha cidade porturia, Santana,
formam uma regio metropolitana que, devido migrao, apresenta altos ndices
de crescimento urbano. Aqui se concentram 76 % da populao do Estado.
Mais do que apenas enfocar a situao local, o Projeto trabalha com a questo
urbana da Amaznia. Desta forma, o projeto representa uma referncia para a
regio Norte, no sentido de elaborar modelos de gesto ambiental para a situao
especfica da "Amaznia Urbana", bastante diferente de outros centros urbanos do
pas.
Atividades do Projeto Gesto Ambiental Urbana no Amap:
I - Para melhorar o ambiente urbano das cidades Macap e Santana, os rgos
municipais e estaduais precisam de instrumentos adequados para a coordenao de
medidas de gesto ambiental urbana. O Projeto oferece apoio para a formulao
participativa destes instrumentos.
II - Apoio para o melhoramento do gerenciamento de resduos slidos, e para
fortalecer a iniciativa prpria de atores pblicos e privados. Desta forma, o projeto
apoia medidas pilotos nas duas cidades, servindo de exemplo para a Regio
Amaznica.
III - O Projeto contribui para aumentar a eficcia de medidas educativas de sade
ambiental no meio urbano.
Desde o seu incio, o Projeto Gesto Ambiental Urbana no Amap integra os vrios
atores em Macap e Santana, que trabalham com temticas ambientais urbanas.
Apoiando estes atores, o Projeto contribui no desenvolvimento de vrias medidas
pilotos, entre outros:
Elaborao de um estudo de quantidades e de composio de resduos slidos
urbanos, incluindo o levantamento do potencial de reciclagem que contribui ao
incentivo do mercado local de resduos reciclveis e criao de uma cooperativa
de catadores de lixo.
Definio do sistema de gerenciamento integrado de resduos slidos, visando a
definio das polticas municipais de resduos slidos, e incentivo formao do
Frum Estadual de Resduos Slidos, contribuindo para a definio da poltica
estadual de resduos slidos. O Projeto apoiou a Prefeitura de Macap na
formulao participativa do seu Plano de Gesto Integrada de Resduos Slidos (P-
GIRS).
Consultoria para a transformao da lixeira pblica de Macap em Aterro Controlado
e, numa segunda etapa, em Aterro Sanitrio.
Implementao de um sistema de coleta alternativa de resduos em reas de difcil
acesso e elaborao de sistemas adequados de coleta de resduos de comunidades
no interior com caractersticas urbano-rurais que tenham uma forte inter-relao com
as cidades Macap e Santana, principalmente referente ao fluxo de matrias.
611
Mapeamento urbano georeferenciado de empreendimentos de risco ambiental, tais
como postos de combustvel, serrarias, pontos de venda de gs de cozinha, oficinas,
etc. e elaborao de medidas especficas.
Incentivo formao do consrcio intermunicipal de resduos slidos de Macap e
Santana.
O Projeto trabalha ainda com o desenvolvimento organizacional de rgos
municipais especficos e, consequentemente, com capacitao gerencial e tcnica
de funcionrios destes rgos. A capacitao se refere tambm rgos no-
governamentais e iniciativa privada.
Apoio alemo previsto:
At DM 1,5 Milhes para medidas de cooperao tcnica
Fonte: http://www.sema.ap.gov.br/projetoseprogramas/gtz.shtml
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ap4.html
Trs unidades de relevo ocorrem no Amap no sentido litoral-interior, sendo estes
pouco acidentados.
Plancie Litornea
Composta por terrenos muitos baixos e facilmente alagadios.
Baixo Planalto Tercirio
Tratam-se de planaltos pouco elevados e arenosos com ocorrncia na plancie
litornea, alm da sucesso de tabuleiros.
Planalto Cristalino
Ocorre no interior, na poro do planalto das Guianas, ocupando a maior parte do
Estado. Vrias serras, colinas e morros constituem esta unidade.
Serra do Tumucumaque (500m) Serra de Lombard
Serra Estrela Serra do Uruaitu ou Agaminuara
Serra do Naucouru Serra do Navio
Serra dos Mungubas Serra da Pancada
Serra do Iratapuru Serra do Acapuzal
Serra Culari Serra Aru
Monte Catari Monte Carupina
Monte Tipac Monte Itu
612
Hidrografia
O estado do Amap apresenta uma considervel bacia hidrogrfica, onde a maioria
de seus rios segue em direo ao Atlntico e alguns com potencial econmico.
Rio Araguari - sua nascente est na Serra do Tumucumaque seguindo em direo
ao Atlntico. Durante seu percurso forma 36 cachoeiras ao todo, entre elas a
Cachoeira do Paredo, da Anta, do Arrependido, do Arrependidozinho, das Pedras,
Mungubas e outras.
Rio Oiapoque - limita naturalmente o Brasil e a Guiana Francesa, tambm forma
importantes cachoeiras: Goiabeiras, Manan, Caimum, Tacuru e Gran Rocho.
Rio Pedreira - histrico; forneceu as pedras para a construo da Fortaleza de So
Jos de Macap
Rios Gurijuba e Cassipor - so reconhecidos pela grande variedade e quantidade
de peixes.
Porm, a regio tambm banhada por rios que iro se encontrar com as guas do
rio Amazonas, como:
Rio Vila Nova - divisa entre os municpios de Mazago e Laranjal do Jari, com
potencial para a produo de ferro (jazida).
Rio Jari - separa os estados do Amap e Par, e um dos afluentes da margem
esquerda do rio Amazonas. Cachoeiras que se formam em seu curso, Cachoeira de
Santo Antonio, Cumar, Inaj, Aurora, Maaranduba, Guaribas, do Rebojo e do
Desespero.
Rio Matapi - percorre o municpio de Santana, desaguando defronte a Ilha de
Santana.
Rio Maracap - banha regies castanheiras do estado.
Rio Amapari - banha a Serra do Navio; em seu leito pode ser encontrado
mangans, tambm importante afluente do rio Araguari.
Rios Flexal, Tartarugal Grande, Tartarugalzinho e Amap Grande - destacam-se
pela diversidade de peixes; banham vrios municpios do estado.
A mais importante bacia hidrogrfica do estado, formada pelos rios Amapari e
Araguari gerando possibilidades econmicas para a regio, devido a proximidade
com o rio Amazonas e a produo de energia.
Vrios lagos e ilhas integram-se naturalmente na paisagem hidrogrfica da
localidade. Boa parte dos lagos existentes no estado secam durante o vero,
obrigando a populao aqutica a migrar para rios prximos. Lagos de destaque:
Mutuca, do Vento, Comprido, Novo, Duas Bocas, Piratuba, dos Gansos, Floriano,
dos Bagres, Grande entre outros. Das ilhas, quatro delas destacam-se (Bailique,
Marac, Jipioca e Santana). A Ilha de Bailique, juntamente com as ilhas do Brigue,
do Faustino e do Curu compem o Arquiplago de Bailique.
613
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ap6.html
O turismo amapaense volta-se em especial para o ecoturismo, devido apresentar
caractersticas como a proximidade com trs domnios geogrficos especficos da
regio (amaznico, guianense e ocenico) o que refora seu potencial para a prtica
de atividades voltadas do meio ambiente.
Compem a paisagem local, campos de vrzea e inundveis, mangues e cerrados
sendo boa parte do territrio dominado pela floresta praticamente intocada (1,9%
aproximadamente foi devastada). Rios, cachoeiras, corredeiras os quais apresentam
grande variedade de peixes, em especial o tucunar, peixe que simboliza a pesca
esportiva, bastante praticada no estado.
Faz parte do circuito turstico do estado a cultura, o folclore, os costumes populares
e outras peculiaridades que cada localidade ou ponto turstico guarda, merecendo
destaque:
- Macap: foi fundada por aorianos; seu acesso feito de barco ou avio. Volta-se
para o turismo de negcios e tambm de lazer apresentando como particularidade,
ser a nica cidade brasileira banhada pelo rio Amazonas e localizada na linha do
Equador.
- Vila de Curia: foi formada por escravos no Sculo XVIII, para que estes
construssem a Fortaleza de So Jos de Macap. Sua populao local mantm
seus costumes culturais nas festas e outras manifestaes. A vila foi transformada
em rea de Proteo Ambiental visando sua preparao para a implantao do
ecoturismo.
- Serra do Tumucumaque: a porta de entrada para a floresta praticamente intocada
pelo homem.
- Regio dos Lagos: onde vegetao e guas unem-se no mesmo cenrio.
Vrios festejos como o Marabaixo com suas danas, batuque e ladainhas reunindo
negros, ndios e brancos numa mistura de tradies; a Festa de So Tiago
relembrando a batalha entre cristos e muulmanos; o Carnaval com seus vrios
blocos desfilando pelas ruas, inlcuindo tambm o tradicional Crio de Nazar,
festividade religiosa da regio norte do Brasil.
Enfim, roteiros para todos os gostos, para queles que procuram aventura, lazer,
contato com a natureza, com os aspectos histricos e culturais do estado.
614
Pontos Tursticos
Fortaleza de So Jos de Macap Igreja de So Jos de Macap
Parque Meio do Mundo Trapiche Eliezer Levy
Complexo Beira Rio Teatro das Bacabeiras
Prdio da Intendncia Casa do Arteso e do ndio
Museu Sacaca de Desenvolvimento
Sustentvel
Mercado dos Produtos da
Floresta
Centro de Cultura Negra Antigo Frum
APA do Curia Praia da Fazendinha
Praia do Arax Cachoeira de Santo Antonio
Cachoeira Grande Pororoca
Pedra do Guindaste Marco Zero (Linha do Equador)
Cidade das Pedras Rio Araguari
Clima
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ap5.html
Predomina o clima, segundo a Classificao de Kppen, equatorial super-mido
(Am) caracterizado por temperaturas mdias anuais entre 25 e 27C com elevados
ndices de pluviosidade, mdia de 2.500mm/ano.
Basicamente definem-se duas estaes, o inverno e o vero. Durante o inverno - de
dezembro a agosto - as chuvas so freqentes; no vero ocorrem as secas,
perdurando nos meses de setembro, outubro e novembro.
Vegetao
Fator importante para a diversidade vegetacional do Amap o clima. Assim pode
ser dividida a vegetao local.
Floresta de Vrzea: Permanece inundada durante o perodo das cheias.
Floresta de Terra Firme: No atingida pelas cheias dos rios.
Campos: Subdivide-se em trs aspectos, campos cerrados, inundveis e limpos
com predomnio no estado dos campos inundveis.
Outra vegetao de ocorrncia na plancie litornea, que constantemente alagada,
so os manguezais estendendo-se por todo o litoral at Macap.
615
Espcies de importncia econmica para o Estado
Madeira: acap, angelim, andiroba, ucba, cedro, pau-mulato, carnaba,
maaranduba, jatob, pracuba, pau-rosa, pau-amarelo, castanheira, piqui,
aquariquara, sucupira e outros.
Palmeiras: aaizeiro, bacabeira, buritizeiro, paxiubeira, tucumanzeiro, mucajazeiro,
ubuuzeiro e outras.
616
ESTADO DO AMAZONAS
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/am.html
Histria, Povoamentos e Colonizao
Assim como as terras do Estado de Rondnia, a regio Amaznica pertencia
inicialmente Espanha, porm, com as incurses portuguesas no incio do sculo
XVII, as disputas cessaram em 1750 com a assinatura do Tratado de Madri, ficando
Portugal como dono definitivo da regio. Mais tarde, em 1850, Dom Pedro II criou a
provncia do Amazonas.
A regio Amaznica apresentava-se rica no incio do sculo XX devido a explorao
da borracha. Contudo, este tipo de explorao em colnias inglesas e holandesas do
oriente levaram o Amazonas para a decadncia econmica, passando por longo
perodo de estagnao. A retomada do crescimento se deu em 1950 com incentivos
do Governo Federal, culminando com a criao da Zona Franca de Manaus (1967) e
a introduo da industrializao na regio.
Localizao e rea Territorial
Localiza-se no centro da regio norte do Brasil.
Limita-se ao Norte com a Venezuela e Roraima; a
Noroeste com a Colmbia; a Leste com o Estado do
Par; a Sudeste com o Estado do Mato Grosso; ao
Sul com Rondnia; a Sudoeste com o Estado do
Acre e Peru.
Divide-se em 62 cidades, tendo uma rea total de
1.577.820,2 km o que corresponde a 18% da
superfcie nacional. Sua populao atual aproxima-
se de 2.840.889 habitantes.
Em seu territrio estadual, o Amazonas concentra a maior rea de biodiversidade
em termos de flora e fauna do mundo, a Floresta Amaznica.
617
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/am1.html
618
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/ram.html
619
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/ham.html
Imagem de Satlite
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
620
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/am2.html
Governador: Carlos Eduardo de Souza Braga
Vice-governador: Omar Jos Abdel Aziz
Secretarias de Estado:
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Alfredo Paes dos Santos (secretrio)
Avenida Andr Arajo, 150 - Aleixo
CEP: 69.060-000
Fone: (0xx92) 2121-1620
E-mail: sefaz-am@sefaz.am.gov.br
Site: www.sefaz.am.gov.br
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econmico
Ozias Monteiro Rodrigues (secretrio)
Avenida Andr Arajo, 1500 - Aleixo
CEP: 69.060-000
Fone: (0xx92) 2126-1200
Fax: (0xx92) 2126-1218
Secretaria de Estado de Administrao, Recursos Humanos e Previdncia -
SEAD
Jorge Nelson Smorigo (secretrio)
Rua Recife, 3280 - Parque Dez
CEP: 69.057-002
Fone: (0xx92) 648-0561 / 642-2468
Fax: (0xx92) 642-2468 / 642-3296
E-mail: seadam@osite.com.br
Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos
Carlos Llio Lauria Ferreira (secretrio)
Avenida Epaminondas, 600 - Praa da Saudade
CEP: 69.010-090
Fone: (0xx92) 215-2700 / 2701
E-mail: sejus@sejus.am.gov.br
Secretaria de Estado de Segurana Pblica -SSP
Jlio Assis Corra Pinheiro (secretrio)
Avenida Tef, 850 - Japiim
CEP: 69.078-000
Fone: (0xx92) 237-1000
E-mail: ssp_am@bol.com.br
Secretaria de Estado da Educao e Qualidade de Ensino - SEDUC
Vera Lcia Marques Edwards (secretria)
Avenida Perimetral 2, 1984 - Japiim II
CEP: 69.076-830
Fone: (0xx92) 613-6688
621
Secretaria de Estado de Sade - SUSAM
Leny Nascimento da Motta Passos (secretrio)
Avenida Andr Arajo, 701 - Aleixo
CEP: 69.060-001
Fone: (0xx92) 643-6300
E-mail: sec_coordenadora@saude.am.gov.br
Secretaria de Estado de Cultura
Robrio dos Santos Pereira Braga (secretrio)
Avenida Sete de Setembro, 1546 - Vila Ninita
CEP: 69.005-141
Fone: (0xx92) 633-2850 / 633-3041
Fax: (0xx92) 233-9973
E-mail: gabin@culturamazonas.am.gov.br
Secretaria de Estado de Assistncia Social
Cargo Vago
Avenida Darcy Vargas, 77 - Chapada
CEP: 69.050-020
Fone: (0xx92) 648-0655 / 648-0657
E-mail: seas@seas.am.gov.br
Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania
Severino Cavalcante de Souza (secretrio)
Avenida Joaquim Nabuco, 919 - Centro
CEP: 69.020-030
Fone: (0xx92) 233-6468 / 233-6121
E-mail: setraci@setraci.am.gov.br
Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer
Joo Mendes da Fonseca Jnior (secretrio)
Avenida Pedro Teixeira, 400
CEP: 69.040-000
Fone: (0xx92) 657-6952 / 657-5924
Fax: (0xx92) 656-5739
E-mail: sejel@sejel.am.gov.br
Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia
Marilene Correa da Silva Freitas (secretria)
Rua Recife, 3.280 - Parque 10 de Novembro
CEP: 69.057-002
Fone: (0xx92) 642-3759 / 642-3967
E-mail: sect@sect.am.gov.br
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel
Virglio Maurcio Viana (secretrio)
Rua Recife, 3280 - Parque 10 de Novembro
CEP: 69.050-030
Fone: (0xx92) 642-4330
Fax: (0xx92) 642-8898
E-mail: gabinete@sds.am.gov.br
622
Secretaria de Estado de Terras e Habitao
George Tasso Lucena Sampaio Calado (secretrio)
Rod. Deputado Vital de Mendona - Flores
CEP: 69.048-660
Fone: (0xx92) 214-7912 / 214-7901
Email: terras@sethab.am.gov.br
Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Joo Bosco Gomes Saraiva (secretrio)
Avenida Cosme Ferreira, 7600 - So Jos
CEP: 69.083-000
Fone: (0xx92) 644-8709 / 1909
Fax: (0xx92) 644-8774
Secretaria de Estado de Produo Agropecuria, Pesca e Desenvolvimento
Rural Integrado
Luiz Castro Andrade Neto (secretrio)
Avenida Buriti, 1850 - Distrito Industrial
CEP: 69.075-000
Fone: (0xx92) 613-2830 / 1040
Fax: (0xx92) 613-4251
E-mail: sepror@sepror.am.gov.br
Secretaria de Estado Extraordinria
Severino Cavalcante de Souza (secretrio)
Rua Silva Ramos, 822 - Centro
CEP: 69.025-000
Fone: (0xx92) 631-1177 / 631-0693
E-mail: see@see.am.gov.br
rgos Ambientais
- Instituto de Proteo Ambiental do Amazonas - IPAAM
Estevo Vicente Cavalcanti Monteiro de Paula (presidente)
Rua Recife, 3280 - Parque 10
CEP: 69.057-002
Fone: (0xx92) 642-4848
Fax: (0xx92) 642-4890
E-mail: vp@ipaam.br
- Instituto de Desenvolvimento dos Recursos Naturais e Proteo Ambiental do
Estado do Amazonas - IMA
- Instituto Nacional de Pesquisas da Amaznia - INPA
Ronald Ornelas deAraujo Goes (Coordenador de Administrao)
Av. Andr Araujo, 2936 - Petrpolis
CEP: 69.083-000
Caixa Postal: 478
Fone: (0xx92) 643-3300
Fax: (0xx92) 643-3095
623
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente - SEDEMA
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/am6.html
Programa Zona Franca Verde
Este documento sintetiza a estratgia de ao do Governo do Estado do Amazonas
para a preveno e controle do desmatamento no Sul do Estado. Trata-se de um
Plano de Ao Estadual articulado com o Plano de Ao para a Preveno e
Controle do Desmatamento na Amaznia Brasileira, desenvolvido pelo Governo
Federal. O documento apresenta uma anlise introdutria do processo de
desmatamento do estado e as diretrizes e aes prioritrias para o Estado do
Amazonas.
O Plano de Desenvolvimento Sustentvel para o Sul do Estado do Amazonas faz
parte de um conjunto de aes mais abrangentes desenvolvido pelo Governo
Eduardo Braga, denominado Programa Zona Franca Verde. Este programa tem
como misso promover o desenvolvimento sustentvel do Estado do Amazonas, a
partir de sistemas de produo florestal, pesqueira e agropecuria ecologicamente
saudveis, socialmente justos e economicamente viveis. Diversas aes descritas
neste Plano j esto em andamento nas reas prioritrias da Fase I do Programa
Zona Franca Verde: Mesorregies do Alto Solimes e Juru e Municpio de Maus.
Este Plano, que ser includo na Fase II do Programa Zona Franca Verde,
concentra-se nas seguintes regies:
Sul do Estado, na rea de influncia da rodovia Transamaznica (BR-230),
abrangendo os municpios de Maus, Apu, Manicor, Humait, Canutama e Lbrea,
na divisa com os estados de Par, Mato Grosso e Rondnia;
Sudoeste do Estado, na rea de influncia das rodovias BR-317 e BR-364,
abrangendo os municpios de Humait, Lbrea, Canutama, Boca do Acre, e Guajar,
na divisa com os estados de Rondnia e Acre.
A presente verso incorpora os resultados de anlises e propostas das Secretarias
de Estado, bem como de pesquisadores e docentes que fazem parte do Conselho
Cientfico Consultivo, Prefeituras Municipais e lideranas de movimentos sociais e
ambientalistas do Estado. As vises de diferentes parceiros foram incorporadas em
reunies de trabalho, onde procurou-se construir um consenso inter-institucional.
Este um documento de trabalho, portanto, sugestes e comentrios so bem
vindos e podem ser enviados para: suldoestado@sds.am.gov.br
Introduo
1. O processo de desmatamento no sul do estado apresenta caractersticas
semelhantes aos demais processos de expanso da fronteira agropecuria na Mata
Atlntica - num passado mais distante e no sul da Amaznia, especialmente nas
ltimas trs dcadas. Considerado relativamente pequeno (2%) e localizado, possui
diferenciaes em relao s demais regies do Estado, acentuado pela
acessibilidade dada por estradas como a BR 364 e outras rodovias. Existe um
624
grande acmulo de anlises cientficas sobre os fatores determinantes e as
conseqncias socioambientais e econmicas da expanso desordenada da
fronteira agropecuria nessas reas que nos permitem extrair lies dos sucessos e
insucessos das polticas pblicas. Os principais fatores condicionantes so: (i) a
ausncia do poder pblico (com atribuio federal em grandes reas); (ii) pequeno
repasse de recursos federais para apoio s aes do Estado; e (iii) a existncia
residual de polticas antigas que estimularam e estimulam direta ou indiretamente o
desmatamento (assentamentos mal concebidos, falta de regularizao fundiria,
escassez de crdito direcionado e assistncia tcnica incipiente, unidades de
conservao pouco planejadas e mal implementadas, falta de controle e fiscalizao
ambiental permanentes); e (iv) inexistncia de novas polticas integradas voltadas
para o desenvolvimento sustentvel da regio, incluindo ordenamento territorial.
2. O processo de desmatamento no estado apresenta singularidades que devem ser
consideradas na formulao de polticas pblicas direcionadas para a preveno e o
controle do desmatamento e a promoo do desenvolvimento sustentvel. Essas
singularidades incluem: (i) grande dimenso territorial (157,7 milhes de hectares);
(ii) elevada diversidade cultural indgena (66 etnias), incluindo grupos no
contactados (cerca de 20); (iii) grande riqueza de saber etnoecolgico, com
tecnologias socioambientais apropriadas ao desenvolvimento sustentvel; (iv)
megabiodiversidade; (v) baixo grau de empobrecimento biolgico (2% de
desmatamento - o mais baixo da regio - e mais elevado no sul do estado; (vi)
baixos ndices de desenvolvimento humano (0,4 a 0,7); (vii) elevado custo de
transporte rodovirio, (ix) extensa malha hidroviria; (x) sistemas de gerao de
energia eltrica isolados e de elevado custo; (xi) baixa proporo da superfcie do
estado regularizada em termos fundirios; (xi) elevada proporo do estado na forma
de reas protegidas (40%, ou 63 milhes de hectares); e (xii) elevada disponibilidade
de recursos hdricos (80% do Brasil e 2/3 do mundo).
3. Existem trs grandes categorias do processo de expanso da fronteira
agropecuria no sul do estado. Primeiro, na regio de Apu, Manicor e Novo
Aripuan, com reas de assentamentos do INCRA (Acari, Juma e Matupi),
caracterizados por um processo de abandono da produo familiar, levando
pecuarizao dos assentamentos. Segundo, nas regies fronteirias com Acre e
Rondnia, nos municpios de Lbrea e Boca do Acre, com processos migratrios
oriundos dos estados vizinhos, ao longo das BR 364 e BR 317, com expanso da
atividade de pecuria e extrao predatria de madeira. Terceiro, as reas de
campos naturais nos municpios de Manicor, Humait, Canutama e Lbrea, com a
implantao de culturas intensivas de gros, com alta tecnologia e investimentos
empresariais.
4. O desmatamento no sul do estado ocorre em reas sob domnio federal por fora
do Decreto-lei 2375/1987. As polticas federais tm sido historicamente inadequadas
para a Amaznia como um todo. De maneira geral, a implementao dessas
polticas so desarticuladas - por vezes contraditrias entre si e principalmente
dissociadas das aes dos governos estaduais, municipais e da sociedade. O
Governo Lula tem a oportunidade de fazer uma profunda mudana, nas polticas
federais, incluindo a descentralizao de responsabilidades e recursos financeiros
para os estados.
625
5. A distncia do processo decisrio, em relao s distintas realidades das diversas
regies do Estado, tem resultado em erros primrios e h muito tempo identificados
pelos movimentos sociais, ambientalistas, produtores e pela literatura cientfica.
Dentre os erros mais claros destacam-se:
- pequena presena do Estado nas reas da fronteira agropecuria, criando
condies propcias para a grilagem de terras, a extrao ilegal de madeira e o
garimpo, crimes diversos e invaso de terras indgenas e unidades de conservao;
- excessiva lentido e burocracia dos rgos responsveis pela regularizao
fundiria e o licenciamento ambiental, aumentando o custo da legalidade;
- fragilidade das aes de represso aos ilcitos fundirios e ambientais, reduzindo
os custos da ilegalidade;
- pequeno apoio ao desenvolvimento e difuso de tecnologias de produo
sustentveis, tanto no manejo de recursos florestais e pesqueiros nativos, quanto em
sistemas agroflorestais, agricultura e pecuria ecolgica e piscicultura;
- baixa disponibilidade de crdito e incentivos tributrios para sistemas de produo
sustentveis;
- baixa formao de recursos humanos para o desenvolvimento de sistemas de
produo sustentveis;
- baixo investimento na proteo e gerenciamento de unidades de conservao;
- criao de unidades de conservao federais sem processos de consulta local,
com conseqentes conflitos com populaes tradicionais;
- excessiva nfase da poltica ambiental para aes de comando e controle e baixa
ateno para programas de educao ambiental e assistncia tcnica para sistemas
de produo sustentveis;
- pequeno apoio para programas de etnodesenvolvimento sustentvel em terras
indgenas;
- implementao de obras de infra-estrutura especialmente estradas dissociadas
de medidas de apoio ao desenvolvimento sustentvel;
- concentrao do domnio fundirio pelo Governo Federal, inclusive de reas
urbanas, e incipiente presena institucional dos rgos federais, em prejuzo da
gesto ambiental e do desenvolvimento rural sustentvel;
- concentrao do domnio da gesto ambiental pelo Governo Federal, com a
criao de unidades de conservao sem adequado processo de consultas pblicas
no Estado;
- incipiente presena institucional dos rgos federais, em prejuzo da gesto
ambiental e do desenvolvimento rural sustentvel; duplicidade de procedimentos
para o licenciamento ambiental pelos governos federal e estadual.
6. O Governo do Estado, como parte do Programa Zona Franca Verde, est
implementando diversas mudanas estruturais que visam corrigir os erros de
polticas governamentais, destacando-se:
626
- assistncia tcnica florestal, com a criao da Agncia de Florestas e Negcios
Sustentveis do Amazonas Florestas do Amazonas/SDS;
- assistncia tcnica para a agropecuria e piscicultura sustentveis, com a
reformulao do Instituto de Desenvolvimento Agropecurio do Amazonas
IDAM/SEPROR; e da Agncia de Agronegcios do Amazonas
Agroamazon/SEPROR;
- regularizao fundiria, com a criao do Instituto de Terras do Amazonas
ITEAM/SETHAB;
- programa de etnodesenvolvimento indgena sustentvel, com a reformulao da
Fundao Estadual de Poltica Indigenista FEPI/SDS;
- incentivos econmicos para sistemas de produo sustentveis, com a
reformulao da Lei Estadual de Incentivos Fiscais;
- crdito para sistemas de produo sustentveis, com a reformulao da Agncia
do Fomento do Estado do Amazonas AFEAM/SEPLAN e a criao do Carto Zona
Franca Verde e programas setoriais de crdito;
- modernizao e desburocratizao do licenciamento ambiental do manejo florestal,
com o fortalecimento do Instituto de Proteo Ambiental do Amazonas
IPAAM/SDS;
- reformulao do processo de licenciamento ambiental de projetos de infra-
estrutura, sob a coordenao da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentvel SDS;
- fortalecimento e ampliao do sistema estadual de unidades de conservao, com
a criao de 4,2 milhes de hectares de novas unidades de conservao;
- desenvolvimento cientfico e tecnolgico para sistemas de produo sustentveis
com a criao da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado do Amazonas
FAPEAM/SECT;
- formao de recursos humanos para o desenvolvimento sustentvel, por meio de
programas articulados da Secretaria de Estado de Educao e Qualidade de Ensino
SEDUC, Universidade Estadual do Amazonas UEA e Centro de Educao
Tecnolgica do Amazonas CETAM;
- polcia ambiental, em processo de estruturao pela Secretaria de Estado de
Justia e Direitos Humanos SEJUS;
Programa Zona Franca Verde, programa intersecretarial e transversal de
desenvolvimento sustentvel, envolvendo as Secretarias de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel; de Produo Agropecuria, Pesca e
Desenvolvimento Rural; de Terras e Habitao; de Educao e Qualidade de
Ensino; de Sade; de Planejamento e Desenvolvimento Econmico; de Infra-
estrutura; de Segurana Pblica; de Trabalho e Cidadania; de Justia e Direitos
Humanos; de Cincia e Tecnologia e Fazenda.
627
Diretrizes Estratgicas
Considerando as particularidades do Estado do Amazonas e as diretrizes do
Programa Federal, o Governo Eduardo Braga prope a implementao de um
conjunto de instrumentos de polticas de carter integrado e com aes sinrgicas,
envolvendo parcerias entre as diferentes secretarias estaduais, rgos do governo
federal, prefeituras municipais, organizaes no governamentais, movimentos
sociais, produtores rurais, indgenas e empresrios, norteados pelas seguintes
diretrizes estratgicas:
1. implementao de um abrangente programa de formao de recursos humanos
para o desenvolvimento sustentvel, considerando a insero de temas relacionados
com a conservao e o uso sustentvel dos recursos naturais incluindo o ensino
fundamental, mdio, tecnolgico, superior e de ps-graduao, capaz de criar a
base necessria para o desenvolvimento de cadeias produtivas e programas de
conservao e etnodesenvolvimento sustentveis;
2. valorizao do saber etnoecolgico dos povos indgenas e populaes
tradicionais, inserindo esse conhecimento no ensino formal, na construo de pontes
com o saber cientfico e na formulao de polticas pblicas apropriadas para o
desenvolvimento sustentvel;
3. desenvolvimento cientfico e tecnolgico voltado para a resoluo dos gargalos
das cadeias produtivas e programas de conservao e etnodesenvolvimento
sustentveis, atravs do apoio a projetos transdisciplinares e baseados em mtodos
de pesquisa participativa e parcerias pblico-privadas;
4. valorizao da floresta para fins de conservao da biodiversidade, manejo
florestal de produtos madeireiros e no-madeireiros e a prestao de servios
ambientais, como um dos alicerces de um novo modelo de desenvolvimento
regional, objetivando a qualidade de vida de populaes locais com a reduo de
desigualdades sociais, a competitividade econmica e a sustentabilidade ambiental;
5. incentivos para a melhor utilizao de reas j desmatadas em bases
sustentveis, contemplando inovaes tecnolgicas, como o manejo de pastagens,
sistemas agroflorestais, agricultura ecolgica e a recuperao de reas degradadas,
como forma de aumentar a produtividade e diminuir as presses sobre florestas
remanescentes; incluindo o estmulo s atividades empresariais sustentveis, em
reas apropriadas, conforme o zoneamento ecolgico-econmico ZEE.
6. implementao de medidas imediatas de ordenamento territorial, com a
implantao de mecanismos de gesto democrtica e sustentvel do territrio e
adequao das normas federais s particularidades regionais;
7. implementao de medidas imediatas de regularizao fundiria, visando o
combate grilagem de terras pblicas, viabilizao de modelos alternativos de
reforma agrria adequados Amaznia, e a criao e consolidao de unidades de
conservao e terras indgenas;
8. reduo do acesso livre aos recursos naturais para fins de uso predatrio, por
meio de aes de combate s atividades ilcitas, especialmente aquelas
degradadoras do meio ambiente;
628
9. aprimoramento dos instrumentos de monitoramento, licenciamento e fiscalizao
do desmatamento com metodologias inovadoras, contemplando a sua integrao
com incentivos preveno de danos ambientais e adoo de prticas
sustentveis entre usurios dos recursos naturais;
10. fortalecimento de uma cultura de planejamento estratgico de obras de infra-
estrutura, envolvendo a anlise adequada de alternativas (em termos de custo-
benefcio e impactos socioeconmicos e ambientais), medidas preventivas,
mitigadoras e compensatrias, e a execuo ex-ante de aes de ordenamento
territorial em bases sustentveis, com transparncia e participao da sociedade;
11. fomento cooperao entre instituies do governo federal, responsveis pelo
conjunto de polticas relacionadas s dinmicas de desmatamento na Amaznia
Legal, superando tendncias histricas de disperso e de isolamento da rea
ambiental;
12. adoo de um estilo de gesto descentralizada e compartilhada de polticas
pblicas, por meio de parcerias entre a Unio, estados e municpios, contemplando
as respectivas necessidades de fortalecimento institucional;
13. estmulo participao ativa dos diferentes setores interessados da sociedade
amaznica na gesto das polticas relacionadas preveno e controle do
desmatamento, e viabilizao de alternativas sustentveis, como meio para
aumentar a qualidade de sua implementao, com transparncia, controle social e
apropriao poltica;
14. valorizao da aprendizagem entre experincias piloto bem sucedidas, dando-
lhes escala por meio de sua incorporao em polticas pblicas; e
15. efetivao de um sistema de monitoramento das dinmicas do desmatamento e
polticas pblicas correlatas na Amaznia, permitindo a anlise permanente da
eficincia e eficcia destes instrumentos, no intuito de garantir um processo
permanente de aprendizagem e aperfeioamento, com transparncia e controle
social.
Aes prioritrias para o Sul do Amazonas
1. Ao articulada e sinrgica entre as diferentes secretarias estaduais, rgos do
governo federal, governos de estados vizinhos, prefeituras municipais, organizaes
no governamentais, movimentos sociais, produtores rurais, indgenas e
empresrios;
2. Zoneamento socioeconmico e ecolgico e ordenamento territorial
a) reas prioritrias em funo do processo de desmatamento, com maior nvel de
detalhamento
b) Sul do Estado como um todo
3. Aes de planejamento participativo de acordo com as caractersticas
socioambientais de cada mesorregio do Estado; com o estabelecimento de
estratgias diferenciadas por micro-regio; ordenamento territorial e zoneamento
629
4.Fruns micro-regionais de promoo do desenvolvimento sustentvel;
a) Gesto ambiental;
b) Regularizao fundiria;
c) Desenvolvimento tecnolgico;
d) Extenso e assistncia tcnica;
e) Oramento (alocao de recursos mnimos para aes integradas nas micro-
regies para os rgos federais, estaduais e municipais);
5. Fortalecimento institucional com escritrios micro-regionais (rgos responsveis
pelas questes fundiria, ambiental, produo florestal, agropecuria e pesqueira);
a) Escritrios nos municpios e/ou microrregies (IBAMA, INCRA, ITEAM, IPAAM,
IDAM e FLORESTAS DO AMAZONAS);
6. Programas de formao de recursos humanos para o desenvolvimento
sustentvel, com diferenciao para diferentes microrregies e segmentos da
sociedade;
7. Pacto federativo para a gesto compartilhada e/ou descentralizada da poltica
fundiria, com a estadualizao e municipalizao de reas sob domnio federal em
microregies prioritrias;
8. Pacto federativo para a gesto compartilhada e/ou descentralizada da poltica
ambiental, com a estadualizao e/ou municipalizao da gesto ambiental em
microregies prioritrias;
9. Reviso normativa (fundiria, ambiental e incentivos econmicos);
10. Estabelecimento de princpios, critrios e indicadores socioambientais para a
priorizao do apoio s atividades agropecurias, florestais e pesqueiras;
11. Consultas pblicas para a criao de unidades de conservao e grandes
empreendimentos;
12. Melhoria da infra-estrutura: estradas, energia, hidrovias e portos. Estudos de
impacto ambiental prvios para todas as obras de infra-estrutura
a) Condicionantes socioambientais especficos;
b) Obras precedidas por zoneamento e ordenamento e anlise de alternativas;
13. Programas setoriais de aes de apoio ao desenvolvimento sustentvel:
fundirio, ambiental, produo florestal, agropecuria e pesqueira. Apoio s cadeias
produtivas sustentveis:
a) Estmulo adoo de prticas ecolgicas
b) Estmulo certificao socioambiental
c) Estmulo adoo de tecnologias intensivas
630
d) Incentivos creditcios e fiscais a atividades sustentveis
e) Estmulo industrializao de produtos agropecurios, florestais e pesqueiros
f) Ecoturismo e turismo sustentvel
14. Controle, monitoramento, assistncia tcnica e educao ambiental como
prioridade, com presena institucional constante e eficaz;
15. Aes de fiscalizao diferenciando os pequenos produtores dos grileiros e
madeireiros de grande porte. Represso s atividades ilcitas, especialmente:
a) Garimpo de mogno e outras espcies florestais
b) Grilagem de terras
16. Programa de gesto ambiental voltado para a valorizao de servios
ambientais, especialmente o sequestro de carbono
17. Criao de novas unidades de conservao por meio de processos participativos
de consulta pblica, reunies tcnicas e estudos tcnicos.
18. Aumento da arrecadao fazendria e combate evaso fiscal
a) Postos de arrecadao da SEFAZ
19. Aes sociais estruturantes
a) Sade
b) Educao
c) Segurana
Fonte: http://www.ipaam.br/plano/plano.html
Programa de Gesto Ambiental Integrada - PGAI - AM
O Programa de Gesto Ambiental Integrada um conjunto de aes, gerenciadas
pela sociedade, voltadas organizao ambiental compartilhada, visando
harmonizar o uso e ocupao da regio com a qualidade do meio ambiente. Tem
como objetivo contribuir para a proteo das reas vulnerveis de alta
biodiversidade e promover o uso sustentado dos recursos naturais, pelas
populaes tradicionais, atravs da Gesto Ambiental Integrada.
631
A rea Sudeste
1 Sub-rea 1
2 Sub-rea 2
3 Sub-rea 3
4 Sub-rea 4
B rea Nordeste
5 Sub-rea 5
6 Sub-rea 6
7 Sub-rea 7
8 Sub-rea 8
Programa Piloto para Proteo das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7)
um programa responsvel por considerveis avanos obtidos nos ltimos anos na
conservao e na utilizao sustentvel da diversidade biolgica na regio
Amaznica brasileira. constitudo de quatro subprogramas:
Poltica de Recursos Naturais
Unidades de conservao e manejo de Recursos Naturais Renovveis
Cincia e Tecnologia
Projetos Demonstrativos
PROVRZEA, PROMANEJO
Corredores ecolgicos:
um projeto do subprograma de Unidades de conservao e manejo de Recursos
Naturais, no mbito do PPG - 7 : Tem como objetivo a conservao in situ da
biodiversidade das florestas tropicais brasileiras, por meio de integrao de
Unidades de Conservao pblicas e privadas em
corredores biolgicos selecionados.
RENIMA - Rede Nacional de Informaes sobre o Meio
Ambiente : Tem como objetivo principal dar suporte
irformacional s atividades tcnico-cientficas e
industriais e apoiar o processo de gesto ambiental.
PR-CINCIAS - Programa de Aperfeioamento de
Professores de Ensino Mdio da Matemtica e Cincias.
Fonte: http://www.ipaam.br/programas.html
632
Geomorfologia e Relevo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/am3.html
Trs unidades geomorfolgicas esto presentes, Plancie Amaznica, Planalto das
Guianas e Planalto Brasileiro.
Plancie Amaznica
Formada por um baixo plat chamado localmente de terra firme. Nestas terras,
foram formados os leitos dos rios e tambm as vrzeas. As vrzeas da regio
originaram-se pelo acmulo de argila e areia; so inundadas com certa freqncia
pelos rios.
Planalto das Guianas
Situada ao norte da plancie esto as ondulaes mais suaves, aps seguem-se os
alinhamentos montanhosos prximos da fronteira com a Venezuela.
Neste planalto, mais precisamente na serra do Imeri encontram-se as maiores
elevaes brasileiras, como o Pico da Neblina (3.014m, ponto culminante do Brasil)
e Pico 31 de maro.
Planalto Brasileiro
Encontra-se na poro sul da Plancie Amaznica, sendo caracterizada por
superfcies onduladas j bastante afetadas pela eroso.
Hidrografia
O rio Amazonas corta o estado no sentido oeste-leste; nasce no planalto de La
Raya-Peru, chamando-se Vilcanota e, ao entrar em territrio brasileiro recebe o
nome de Solimes; prximo da cidade de Manaus, ao encontrar-se com o rio Negro
recebe ento o nome de Amazonas. Ao todo so 6.515km de extenso, destes,
3.600 correm em terras brasileiras. Mede normalmente de 4 a 5km de largura,
atingindo cerca de 10 ou mais quilmetros em certos pontos e nas cheias; quanto a
sua profundidade, pode chegar facilmente aos 100 metros.
Anteriormente, estes cursos seguiam em sentido contrrio (leste-oeste) desaguando
em terras equatorianas. Quando os Andes estavam se formando, ocorreram
represamentos, originando lagos de gua salobra que, com as mudanas climticas
passaram a compor os rios atuais. Provas geolgicas, e cerca de 50 espcies de
peixes marinhos que vivem em rios amaznicos comprovam este fenmeno.
Dos mais de sete mil afluentes alguns merecem destaque.
Margem direita: rios Madeira (extenso de 3.200km), Xingu e Tapajs.
Margem esquerda: rios Negro, Trombetas e Jari.
A hidrografia amazonense apresenta caractersticas peculiares como a unio dos
rios Negro e Solimes. O rio Negro apresenta guas escuras e o Solimes, guas
633
barrentas, ao juntarem-se no mesmo leito no se misturam, correm lado a lado por
cerca de 6km, a partir da formam o rio Amazonas.
As guas dos diversos rios amaznicos podem ser divididas em trs tipos:
- guas brancas: originam-se nas montanhas andinas; apresentam esta colorao
devido a quantidade de sedimentos carreados das cabeceiras. Ex. rios Madeira e
Amazonas.
- guas pretas: originam-se nos escudos das Guianas e no Brasil Central. As
rochas quartzticas (por onde percorrem os cursos) e os cidos liberados pela
decomposio natural de folhas e galhos das plantas garantem pigmentos escuros
gua. Ex. rio Negro.
- guas claras: tambm nascem nos escudos da Guiana e no Brasil Central em
reas erodidas; sua colorao branca e por vezes esverdeada proveniente da
eroso de reas, bem como, do acmulo de sedimentos na poca das cheias. Ex.
rios Tocantins e Tapajs.
Outro fenmeno regional a pororoca: encontro das correntes martimas com a
corrente fluvial na foz do rio Amazonas.
Lagos
De vrzea: ocupam as partes mais baixas da plancie, so rasos e temporrios
(cobertos pelas guas das chuvas), rico em peixes.
De terra firme: represados por cordes de aluvio. Exemplificando os rios
Manacapuru, Badajoz, Anam, Piorini, Mamori e Coari.
Ilhas
Em sua maioria so ilhas aluviais, algumas formadas por paran (brao de rio, que
dele se desvia voltando a ele depois). Exemplos: (Careiro, Codajs, Maguapanim e
Tupunambaranas - maior ilha do estado formada no encontro dos rios Amazonas e
Madeira.
Em suma, a bacia hidrogrfica amaznica estende-se por 3.889.489,6 km sendo a
quinta maior reserva de gua doce do mundo.
A navegabilidade outro fator positivo, constituindo-se quase que no nico meio de
transporte local. Mais de 20 mil quilmetros de hidrovias interligam as diversas
comunidades amaznicas.
Clima
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/am4.html
Diferindo da maioria dos estados brasileiros, Amazonas cortado ao norte pela linha
do Equador; apresenta como clima dominante o equatorial (Am) com duas
variaes.
634
Poro Oeste: clima equatorial mido sem estao seca definida. O regime
pluviomtrico elevado, com ndices superiores a 2.000 mm/ano. As temperaturas
tambm so elevadas variando entre 25 e 27C, durante os meses de maio a
setembro as chances de ocorrer a friagem so grandes, quando ocorrem, em mdia
de 3 a 4 dias as temperaturas diminuem chegando a 10 graus (mnima).
Poro Leste: clima equatorial com pequena estao seca; chuvas acentuadas o
que registra ndices superiores a 2.500 mm/ano e temperaturas de 26C. A estao
seca ocorre na primavera (norte do Amazonas) e no vero (sul do rio Amazonas).
Vegetao
Vrias rvores, arbustos, parasitas, cips e orqudeas formam a floresta equatorial
ou amaznica, a qual cobre a maior parte do estado incluindo reas de vrzeas e
terra firme, em alguns pontos chega a ser to densa impedindo a passagem da luz
solar em 95%.
Sua ocorrncia nas reas de vrzea a caracteriza por uma maior variedade, j que
muitas sementes so trazidas pelos rios nas pocas de cheias e ali depositadas,
exemplificando uma espcie local, a seringueira.
J a floresta de terra firme, constituda por espcies com certo valor econmico
como o mogno, a maaranduba e a castanheira-do-par que, se exploradas devem
ser garantidas as condies para que novas rvores possam se desenvolver.
reas de campos em meio a mata nativa podem ser encontrados. Estes campos
formam manchas de vegetao rasteira com possibilidade de desenvolvimento de
espcies arbustivas. A oeste e ao sul das cidades de Humait e Coari
respectivamente, esto as maiores reas de campos do estado.
Clima
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/am4.html
Diferindo da maioria dos estados brasileiros, Amazonas cortado ao norte pela linha
do Equador; apresenta como clima dominante o equatorial (Am) com duas
variaes.
Poro Oeste: clima equatorial mido sem estao seca definida. O regime
pluviomtrico elevado, com ndices superiores a 2.000 mm/ano. As temperaturas
tambm so elevadas variando entre 25 e 27C, durante os meses de maio a
setembro as chances de ocorrer a friagem so grandes, quando ocorrem, em mdia
de 3 a 4 dias as temperaturas diminuem chegando a 10 graus (mnima).
Poro Leste: clima equatorial com pequena estao seca; chuvas acentuadas o
que registra ndices superiores a 2.500 mm/ano e temperaturas de 26C. A estao
seca ocorre na primavera (norte do Amazonas) e no vero (sul do rio Amazonas).
635
Vegetao
Vrias rvores, arbustos, parasitas, cips e orqudeas formam a floresta equatorial
ou amaznica, a qual cobre a maior parte do estado incluindo reas de vrzeas e
terra firme, em alguns pontos chega a ser to densa impedindo a passagem da luz
solar em 95%.
Sua ocorrncia nas reas de vrzea a caracteriza por uma maior variedade, j que
muitas sementes so trazidas pelos rios nas pocas de cheias e ali depositadas,
exemplificando uma espcie local, a seringueira.
J a floresta de terra firme, constituda por espcies com certo valor econmico
como o mogno, a maaranduba e a castanheira-do-par que, se exploradas devem
ser garantidas as condies para que novas rvores possam se desenvolver.
reas de campos em meio a mata nativa podem ser encontrados. Estes campos
formam manchas de vegetao rasteira com possibilidade de desenvolvimento de
espcies arbustivas. A oeste e ao sul das cidades de Humait e Coari
respectivamente, esto as maiores reas de campos do estado.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/am5.html
Turismo bastante difundido no estado o voltado natureza, proporcionando o
conhecimento, a aprendizagem e a valorizao da floresta tropical e de seus
habitantes, os quais zelam pela conservao local. Tambm o turismo de eventos
ganha fora, atraindo a organizao de congressos, treinamentos e reunies de
negcios para a localidade.
A prpria forma de hospedagem chama a ateno tanto nacional como
internacionalmente dos turistas. Os chamados Hotis da Selva oferecem uma maior
integrao com o meio ambiente, passeios na floresta e programas especiais como:
sobrevivncia na selva, observao de pssaros, passeios fluviais com a
possibilidade de observao de peixes ornamentais, jacar, hard adventure e
trekking. Existem aproximadamente 12 unidades, alguns com excelente infra-
estrutura e outros que no possuem energia eltrica. O estado pioneiro neste tipo
de hospedagem chamado de Lodges.
Culinria
Tem como base o pescado (mais de 2.500 espcies de peixes), oferecendo grande
variedade de pratos que sofrem a influncia de nacionalidade indgena, portuguesa,
africana e francesa. Dentre os quitutes esto o Tambaqui - assado ou caldeirada;
Pirarucu - bacalhau da regio (conservado no sal); Tucunar - sabor delicado prprio
para caldeirada; Jaraqui - consumido com farinha de mandioca e molho de pimenta.
Um dos principais acompanhamentos da culinria amazonense a farinha de
mandioca juntamente com verduras e pimentas (malagueta, murupi ou de cheiro).
636
Exemplificando: Pato no tucupi, tacac, quebra-queixo, broas, pamonha, tapioca
com castanha, bolo de macaxeira, minguau de banana, mungunz, pratos estes
regados ao suco de frutos regionais (cupua, graviola, tapereb, buriti, maracuj,
pupunha, tucum, aa, bacaba, pato e guaran).
Folclore
Influncias portuguesa e nordestina acrescida das marcantes caractersticas
indgenas; natureza e o misticismo so expresses bsicas do folclore local. Nos
meses de junho realizam-se os festivais folclricos (Manaus, Parintins); na capital a
30 anos acontece os bumbs - Corre-Campo, Brilhante, Gitano, Tira-Teima e Tira-
Prosa. Aspectos folclricos do estado como as quadrilhas, cirandas, cacetinho,
pssaros, danas nordestinas e tribos indgenas.
Nos trs ltimos dias de junho, ocorre o Festival de Parintins, disputa entre os bois
rivais - Caprichoso e Garantido - encenando lendas locais (a Cobra Grande, da Iara,
da Mandioca e da Vitria-Rgia). Os bois surgiram em 1913 mantendo at hoje
uma acirrada disputa, realizada atualmente no Bumbdromo.
Merecem destaque, como atrativos tursticos e histricos os seguintes locais
Pontos Tursticos
Encontro das guas Arquiplago de Anavilhanas
Refgio do Maruaga Zoolgico do Cigs
Centro de Convenes Vila Olmpica
Central de Artesanato Estdio Vivaldo Lima
Praia da Ponta Negra Praia do Tup
Praia Dourada Marinho Cachoeira do Paricatuba
Cachoeira do Tarum Cachoeira do Santurio
Cachoeira do Leo Cascatinha do Amor
Parque Municipal do Mindu Bosque da Cincia
Parque Ecolgico do Janauary Jardim Botnico Adolpho Ducke
Patrimnios Histricos
Teatro Amazonas Abertura dos Portos
Igreja de So Sebastio Palcio da Justia
Biblioteca Pblica Igreja da Matriz
Relgio Municipal Alfndega
Porto de Manaus Mercado Municipal
Igreja de Nossa Senhora dos Remdios Centro de Artes Chamin
637
Quartel da Polcia Militar Palcio Rio Negro
Reservatrio do Moc Museu Amaznico
Museu Crisantho Jobim Museu Arte ndia - Funai
Museu Tiradentes Museu do Homem do Norte
Museu Moacir de Andrade Museu do ndio
Museu Carlos Isotta Museu de Cincias Naturais
Por fim, constituem-se plos ecotursticos os municpios de: Manaus, Presidente
Figueiredo, Barcelos, Novo Airo, Manacapuru, Iranduba, Careiro, Careiro do
Vrzea, Autazes, Itacoatiara, Silves e Rio Preto da Eva.
638
ESTADO DO PAR
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/pa.html
Histria, Povoamentos e Colonizao
Invadido diversas vezes por holandeses e ingleses no incio do sculo XVI em busca
de sementes como: urucum, guaran e pimenta; teve sua ocupao iniciada em
1616 por portugueses com a fundao do Forte do Prespio mais tarde denominado
Forte do Castelo e originando a cidade de Belm.
Visando uma melhoria na defesa da costa e nos contatos com a metrpole, o
territrio passou a fazer parte da provncia do Maranho e Gro-Par tendo em vista
que as relaes com a capital da colnia Salvador eram dificultadas pela
corrente martima.
Durante o sculo XVII, as lavouras de caf, arroz, cana-de-acar, cacau e tabaco,
bem como, as fazendas de gado trouxeram prosperidade regio.
Coincidentemente, em 1774 ocorreu a estagnao da economia e a integrao
(Maranho e Gro-Par) foi desfeita.
A explorao da borracha no final do sculo XIX impulsionou novamente a economia
desenvolvendo a regio norte. Porm, durante o sculo XIX, movimentos contra
Portugal surgiram, como por exemplo, a Cabanagem em 1835, movimento este que
chegou a decretar a independncia e instalar um novo governo em Belm.
Localizao e rea Territorial
O Estado do Par cortado pela linha do Equador;
localizado entre os paralelos 2N e 5S e meridianos
56 e 48 W.Gr. Limita-se com os Estados do Amap,
Mato Grosso, Amazonas, Tocantins, Roraima,
Maranho, com o Oceano Atlntico e com a Guiana.
Divide-se em 143 municpios apresentando clima
quente e mido, com chuvas distribudas. Sua
populao estimada de 6 milhes de habitantes
em uma rea total de 1.253.164,5 km.
639
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pa1.html
640
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rpa.html
641
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hpa.html
642
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/ipa.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pa2.html
Governo
Governador: Simo Robison Oliveira Jatene
Vice-governador: Valria Pires Franco
Palcio dos Despachos - Rod. Augusto Montenegro, Km 09
CEP: 66.823-010
Fone: (0xx91) 3214-5585 / 5587 / 5500
Fax: (0xx91) 3248-0300 / 0133
Secretaria Especial de Estado de Governo
Wandenkolk Pasteur Gonalves (secretrio)
Palcio dos Despachos - Rod. Augusto Montenegro, Km 09
CEP: 66.823-010
643
Fone: (0xx91) 3278-6644 / 6446 / 6200
Fax: (0xx91) 3248-1389
Secretaria Especial de Estado de Gesto
Teresa Lusia Martires Coelho Cativo Rosa (secretria)
Centro Integrado do Governo - Av. Nazar, 871
CEP: 66.035-170
Fone: (0xx91) 3213-3684 / 3771
Fax: (0xx91) 3213-3683
Secretaria Especial de Estado de Infra-estrutura
Jos Augusto Soares Affonso (secretrio)
Centro Integrado do Governo - Av. Nazar, 871
CEP: 66.035-170
Fone: (0xx91) 3213-3763 / 3224-7910
Fax: (0xx91) 3213-3610
Secretaria Especial de Estado de Produo
Francisco Srgio B. de Souza Leo (secretrio)
Centro Integrado do Governo - Av. Nazar, 871
CEP: 66.035-170
Fone: (0xx91) 3213-3673 / 3767
Fax: (0xx91) 3213-3683
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social
Manoel Santino Nascimento Jnior (secretrio)
Centro Integrado do Governo - Av. Nazar, 871
CEP: 66.035-170
Fone: (0xx91) 3213-3766
Fax: (0xx91) 3213-3637
Secretaria Especial de Estado de Proteo Social
Valria Vinagre Pires Franco (secretria)
Centro Integrado do Governo - Av. Nazar, 871
CEP: 66.035-170
Fone: (0xx91) 3213-3631 / 3650
Fax: (0xx91) 3213-3724 / 3709
Secretaria Especial de Estado de Promoo Social
Gerson dos Santos Peres (secretrio)
Centro Integrado do Governo - Av. Nazar, 871
CEP: 60.035-170
Fone: (0xx91) 3213-3760 / 3670
Fax: (0xx91) 3213-3660 / 3655
Secretaria Executiva de Administrao Interina
Alice Viana Soares (secretria)
Av. Gentil Bittencourt, 43
CEP: 66.015-140
Fone: (0xx91) 3289-6200 / 6240 / 6202
Fax: (0xx91) 3223-1173
644
Secretaria Executiva de Justia
Ana Amlia Sefer de Figueiredo (secretria)
Rua 28 de Setembro, 339
CEP: 66.010-100
Fone: (0xx91) 3222-3231
Fax: (0xx91) 3225-1632
Secretaria Executiva da Fazenda
Paulo Fernando Machado (secretrio)
Av. Visconde de Souza Franco, 110
CEP: 66.035-000
Fone: (0xx91) 3222-5720 / 3218-4200
Fax: (0xx91) 3223-0776
Secretaria Executiva de Obras Pblicas
Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto (secretrio)
Travessa do Chaco, 2158
CEP: 66.090-120
Fone: (0xx91) 3246-4022 / 3226-4351
Fax: (0xx91) 3226-5689 / 3246-5015
Secretaria Executiva de Sade Pblica
Fernando Agostinho Cruz Dourado (secretrio)
Av. Conselheiro Furtado, 1597
CEP: 66.040-100
Fone: (0xx91) 3224-2333 / 2490
Fax: (0xx91) 3224-2188
Secretaria Executiva de Educao
Rosa Maria Chaves da Cunha (secretria)
Rod. Augusto Montenegro, Km 10
CEP: 66.820-000
Fone: (0xx91) 3248-2625 / 2160 / 7700
Fax: (0xx91) 3248-2625
Secretaria Executiva de Agricultura
Francisco Eduardo Oliveira Victer (secretrio)
Travessa do Chaco, 2232
CEP: 66.090-120
Fone: (0xx91) 3226-8904 / 4895
Fax: (0xx91) 3246-7864
Secretaria Executiva de Segurana Pblica
Ivanildo Ferreira Alves (secretrio)
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, 305
CEP: 66.023-700
Fone: (0xx91) 3224-9637 / 3242-4795
Fax: (0xx91) 3225-2644
Secretaria Executiva de Planejamento e Coordenao Geral
Marila Ferreira Sanches (secretria)
Rua Boaventura da Silva, 401/403
645
CEP: 66.053-050
Fone: (0xx91) 3241-9291 / 3242-9900
Fax: (0xx91) 3241-0709
Secretaria Executiva da Cultura
Paulo Roberto Chaves Fernandes (secretrio)
Av. Magalhes Barata, 830 - Parque da Residncia
CEP: 66.063-240
Fone: (0xx91) 3219-1236 / 1241
Fax: (0xx91) 3219-1240
Secretaria Executiva de Indstria, Comrcio e Minerao
Ramiro Jayme Bentes (secretrio)
Av. Presidente Vargas, 1020
CEP: 66.017-000
Fone: (0xx91) 3212-4432 / 3241-2239
Fax: (0xx91) 3223-2689
Secretaria Executiva do Trabalho e Promoo Social
Jos Haroldo Teixeira da Costa (secretrio)
Av. Governador Jos Malcher, 652 - Ed. Capemi 5o. Andar
CEP: 66.035-100
Fone: (0xx91) 3224-1412 / 3222-5986
Fax: (0xx91) 3222-3848
Secretaria Executiva de Transportes
Pedro Ablio Torres do Carmo (secretrio)
Av. Almirante Barroso, 3639
CEP: 66.013-000
Fone: (0xx91) 3218-7800
Fax: (0xx91) 3231-5845
Secretaria Executiva de Cincia, Tecnologia e Meio Ambiente
Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro (secretrio)
Travessa Lomas Valentinas, 2717
CEP: 66.095-770
Fone: (0xx91) 3276-5800 / 5797
Fax: (0xx91) 3276-8564
Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e Regional
Paulo Elcdio Chaves Nogueira (secretrio)
Av. Pedro Alvares Cabral, 7111
CEP: 66.613-150
Fone: (0xx91) 3243-0406 / 0677
Fax: (0xx91) 3238-2828
Secretaria Executiva de Esporte e Lazer
Jos Angelo Souza de Miranda (secretrio)
Rod. Augusto Montenegro, Km 3
CEP: 66.625-280
Fone: (0xx91) 3232-0011 / 1122/ 1133
Fax: (0xx91) 3232-0474
646
Secretaria Extraordinria de Assuntos Institucionais
Elcione Therezinha Zahluth (secretria)
Secretaria Extraordinria de Novos Projetos
Vilmos da Silva Grunvald (secretrio)
rgos Ambientais
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pa3.html
O Projeto
"Apoio elaborao de Polticas Estaduais de Gesto Integrada de Resduos
Slidos"
Atravs do Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, no
mbito do Projeto BRA 00-013 - Apoio s Polticas Pblicas na rea Ambiental -
PNMA II, visando apoiar Estados Brasileiros na elaborao de Polticas Estaduais de
Gesto Integrada de Resduos Slidos foi contratada a ONG gua e Vida - Centro
de Estudos e Saneamento Ambiental que atuar em conjunto com a Secretaria
Executiva de Cincia, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, no Estado do Par.
Articulador Regional
Para assessorar diretamente o Estado do Par na discusso e elaborao de
propostas, foi contratada a Dra. Maria Ludetana Arajo, consultora do
PNUD/Articuladora para o Par e Amap.
NML
Ser constitudo no Par, sob a coordenao da Sectam um Ncleo Mobilizador
Local (NML) que ser encarregado de identificar todos os atores, as informaes
relevantes, mobilizar reunies para discusso da proposta e compor um embrio de
gesto compartilhada.
647
Constituio do NML
NATUREZA DAS INFORMAES SECUNDRIAS A
COLETAR
GRUPOS DE
TRABALHO/TEMAS
Operacional Legal Institucional Financeira
GT1 Resduos
Slidos
Domiciliares - RSD
GT2 Resduos
Slidos
de Construo e
Demolio - RCD
GT3 Resduos
Slidos
Especiais - SER
(volumosos, pneus,
pilhas e baterias etc.)
GT4 Resduos
Slidos de Servios
de Sade - RSS
Dados sobre
gerao,
quantidades
coletadas,
tipos de
tratamento,
recuperao
de
reciclveis,
localizao e
tipos de
destinao
final
Base Legal
existente:
leis,
decretos,
resolues
(federais,
estaduais e
municipais
relevantes)
Gestores;
gerenciadores /
executores;
solues
institucionais
inovadoras
(exemplos de
gesto
compartilhada e
de cooperao
intermunicipal e
parcerias
pblico-
privadas);
aspectos
Instrumentos e
mecanismos
financeiros
existentes com
vistas
sustentabilidade
econmico -
financeira dos
sistemas de
gerenciamento
de resduos
slidos
Calendrio de Atividades
Data Atividades Local
29/04 Reunio para constituio do NML
Auditrio da
SECTAM
09/05 2 reunio do NML
Auditrio da
SECTAM
17/05 3 reunio do NML
Auditrio da
SECTAM
23/05
Seminrio de Diagnstico e apresentao das minutas das
propostas de Poltica Estadual de Gesto Integrada de
Resduos Slidos no Estado do Par e do Projeto Lei.
Auditrio da
SECTAM
29/05 4 reunio do NML
Auditrio da
SECTAM
03/06 5 reunio do NML
Auditrio da
SECTAM
18/06 6 reunio do NML
Auditrio da
SECTAM
21/06 Seminrio de Apresentao da 1 verso do Banco de Dados
Auditrio da
SECTAM
648
12/07
Seminrio para apresentao da proposta de Poltica Estadual
e da proposta de projeto lei estadual
Auditrio da
SECTAM
23/07 7 reunio do NML
Auditrio da
SECTAM
25/07
Repasse a gua e Vida da verso local final da proposta de
Poltica Estadual de Gesto Integrada de Resduos Slidos e
Proposta de Projeto lei
Auditrio da
SECTAM
Contatos:
Francisca Lcia Porpino Telles - Coordenadora de Avaliao de Projetos e
Licenciamento / SECTAM
Fone: (91) 276-0107
Email: porpino@sectam.pa.gov.br
Fbio Gorayeb Damasceno - Chefe da Diviso de reas Degradadas e Fontes
Poluidoras / SECTAM
Fone: (91) 276-5100 - Ramal 252
Fax: (91) 276-1787
Email: biblio@sectam.pa.gov.br
Maria Ludetana Arajo - Articuladora Regional para o Par e Amap
Fone: (91) 276-5100 Ramal 259 / (91) 9984-5158
Fax: (91) 276-1787
Email: ludetana@zipmail.com.br, biblio@sectam.pa.gov.br
Aes de Sensibilizao & Projetos de Educao Ambiental
A Secretaria Executiva de Cincia, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM,
atravs da Diviso de Estudos e Educao Ambiental - DIAMB, est realizando
levantamento de Aes de Sensibilizao e/ou Projetos de Educao Ambiental
desenvolvidos por empresas, Secretarias Municipais, Fundaes, Institutos, Escolas,
Igrejas e Organizaes No Governamentais, incluindo Associaes e Cooperativas.
O levantamento tem por objetivos:
1) Constituir um banco de dados sobre Aes de Sensibilizao e Projetos de
Educao Ambiental, bem como, suas consequncias para o desenvolvimento
sustentvel do Estado;
2) Contribuir para troca de experincias e gerao de novos projetos de Educao
Ambiental, a partir da anlise das experincias j efetuadas e em realizao.
Para este levantamento, consideramos AO DE SENSIBILIZAO DE
EDUCAO AMBIENTAL aquela que tem curta durao, no mximo cinco dias,
porm so aes interessantes que envolvem pessoas em torno da preservao e
conservao do meio ambiente.
Exemplos: Mutiro, dia da rvore, cursos, seminrios, Educao Ambiental na praa,
campanhas de praias, dia da coleta seletiva de resduo slidos, entre outros.
649
PROJETO DE EDUCAO AMBIENTAL tem longa durao, no mnimo seis meses
e exige continuidade de atividades, por se tratar de um processo de mudana de
comportamento e valores.
A participao das organizaes governamentais e no governamentais no
levantamento, imprescindvel para registrar as dinmicas, avanos e limitaes do
processo poltico de Educao Ambiental no Estado do Par.
Na oportunidade, queremos externalizar nossa satisfao em ter essa organizao
atuante no processo poltico de Educao Ambiental e participantes do
levantamento.
Formulrios necessrios:
Formulrio de Aes de sensibilizao de Educao Ambiental
Formulrio de Projeto de Educao Ambiental
Observao: os arquivos se encontram no formato .doc do Word, e esto zipados.
Para abr-los, use o Winzip.
Importante:
- O(s) formulrio(s) pode(m) ser preenchido(s) por qualquer organizao que j
tenha realizado ou tenha em andamento uma ao de sensibilizao;
- O(s) formulrio(s) dever(o) ser preenchido(s) e remetido(s) ao endereo
eletrnico diamb@sectam.pa.gov.br ou entregue(s) na prpria SECTAM;
- Preencher um formulrio para cada ao.
Fonte: Secretaria Executiva de Cincia, Tecnologia e Meio Ambiente SECTAM
(http://www.sectam.pa.gov.br/index.htm)
Hidrografia, Clima e Vegetao
Hidrografia
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pa4.html
Correndo no sentido oeste-leste est o principal rio paraense, o Amazonas
desaguando posteriormente no Oceano Atlntico onde forma um delta de 61 km de
largura. Neste encontro (guas do rio e do oceano), ocorre o fenmeno da pororoca
resultando em ondas de mais de 4 metros de altura.
Afluentes do rio Amazonas.
Margem esquerda: Jari, Paru, Trombetas e Nhamund
Margem direita: Xingu e Tapajs
650
Vrios afluentes, bem como, o rio Amazonas propiciam a navegao sendo este o
principal meio de transporte local. Outros rios da regio tm sua importncia como o
Gurupi (limita o Par com o Maranho) e o Araguaia (afluente do Tocantins).
Lagos
Os principais esto situados em reas de vrzea. Entre eles: Grande do Curua,
Itandeua, Poo (prximo da divisa com o Amazonas), Grande de Maicuru (prximo
de Monte Alegre). O lago Arari, com cerca de 100km est situado na baixada
litornea.
Ilhas
Entre a foz do rio Amazonas e o oceano Atlntico est situada a maior das ilhas
brasileiras, Ilha de Maraj. Com 47.964km considerada a stima maior ilha
atlntica. Em toda a extenso do rio Amazonas existem vrias outras ilhas como a
Grande Gurup, a Par, a Janacu, a Caviana, a Mexiana e outros de menor
importncia.
Litoral
Ao todo so 618km de extenso, vrias ilhas na foz do rio Amazonas e outros
aspectos naturais deste que, como o canal do Norte, a baa de Maraj, a baa de
Guajar, a baia de Caet, os cabos de Maguari e de Gurupi.
Clima
Predomina no estado o clima equatorial quente e mido com estao seca
ocorrendo durante o inverno e primavera. As temperaturas mdias giram prximo
dos 27C com ndice pluviomtrico de 2.900mm/ano em Soure (Ilha de Maraj).
No entorno de Belm, o clima quente e normalmente mido no havendo estao
seca; as temperaturas variam entre 25 e 27C com chuvas ultrapassando a
2.000mm/ano.
Vegetao
Pode-se considerar como uma extenso da vegetao do estado do Amazonas,
floresta equatorial ou amaznica.
rvores frondosas, arbustos, parasitas, cips e orqudeas compem, dividindo-se em
reas de vrzea, terra firme e campos.
Vrzea: rica em espcies florsticas em especial seringueiras.
Terra firme: formada por rvores altas, algumas com valor econmico como mogno,
maaranduba e castanha-do-par.
Campos: manchas no meio da floresta, formados por vegetao rasteira. Principais
reas de campos: Maraj, bidos e Monte Alegre.
651
Ilha de Maraj
Localiza-se entre os rios Amazonas e Tocantins e entre o oceano Atlntico, h
poucos quilmetros de Belm podendo-se chegar somente de barco ou avio.
Apresenta como rea total cerca de 50.000km, constituindo-se desta forma, no
maior arquiplago fluvio-martimo do mundo. Esta ilha faz parte do Arquiplago de
Maraj juntamente com as ilhas de Caviana (5 mil km, mais atingida pela pororoca),
Mexiana (1,5 mil km) e Ilha Grande de Gurup (menor, coberta por floresta densa).
Sendo uma das principais, a Ilha de Maraj abriga 12 municpios, destes, Soure o
mais procurado para turismo e Breves o mais populoso; considerado um dos
santurrios ecolgicos preservados da Amaznia. Para melhor compreenso de
seus terrenos, podemos dividir a ilha em duas pores:
Poro Oriental: terras altas com altitudes variveis de 4 a 20m; banhado pelo
oceano Atlntico no sofre inundaes. Vegetao dominante: campos (23.000km).
Poro Ocidental: terras baixas, sujeitas s inundaes dos vrios rios e canais
que formam pequenas ilhas. Vegetao dominante: floresta (26.500km).
Entre os meses de fevereiro a maio ocorrem chuvas freqentes, deixando dois
teros da ilha completamente alagados. A estiagem ocorre de agosto a setembro
sendo caracterizada pela seca do lago Arari.
Devido a grande rea alagadia, a criao de bfalos foi facilmente adaptada
regio, sendo hoje o maior rebanho do pas, gerando sustentabilidade econmica
para a ilha. Outra espcie animal nativa da regio encontrada abundantemente o
pssaro Guar, com plumagem avermelhada sobrevoando a ilha em bandos.
Quanto aos seus primeiros habitantes, acredita-se, que diversos grupos indgenas l
viveram, entre eles os arus originrios das Antilhas, estes indcios so
comprovados pela presena de artigos como tangas, vasos, urnas funerrias,
panelas, pratos, cntaros e jarros pertencentes s civilizaes, demonstrando a
expresso artstica indgena, as cermicas marajoaras com gravaes, traos e
relevos humanos. Atualmente cerca de 250 mil pessoas vivem na ilha distribudas
nos 12 municpios existentes.
Aspectos naturais merecedores de destaque so o lago Arari, o rio Arari, o Canal
das Tartarugas ligando o lago Arari ao oceano Atlntico, as praias fluviais como:
Araruna (2 km de extenso), Pesqueiro (13 km de extenso) e Caju Una (15 km de
extenso), porm, a mais procurada a Joanes. As diversas fazendas criadoras de
bfalos tambm so atrativos.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/pa5.html
Muitas so as atraes tursticas como a pesca esportiva, os animais exticos, as
rvores centenrias, as praias e a culinria local alm de outros pontos marcantes.
652
Por integrar a Amaznia Legal, o estado do Par detm 49% das atraes tursticas
existentes na regio como j foi demonstrado acima.
Assim como em todo o Brasil, o turismo vem sendo bastante incentivado por parte
do governo no tocante a transporte, estradas, saneamento bsico entre outras infra-
estruturas relevantes populao local e aos visitantes. Existem atualmente cinco
plos tursticos: Belm - Costa Atlntica, Maraj, Tapajs, Araguaia - Tocantins e
Xingu.
Plo Belm - Costa Atlntica
Conhecida como a "cidade das mangueiras", Belm contrapem os prdios
modernos, de arquitetura arrojada com seus casarios seculares caractersticos da
Cidade Velha. J, seguindo para a costa atlntica, praias, rios e igaraps formam a
paisagem enriquecida pelas praias de gua salgada como Salinas, Marud e
Algodoal. Compem o plo turstico da costa atlntica, as cidades de: Algodoal,
Salinpolis, Vigia, Marapanim e Bragana.
Destaca-se tambm a riqueza cultural, Marapanim por exemplo, com o tradicional
Carimb; Bragana - a marujada no ms de dezembro; So Caetano de Odivelas -
festividade do Boi Tinga em junho.
Plo Maraj
Diz respeito ao turismo praticado na Ilha do Maraj, a maior ilha flvio-martima do
mundo com cerca de 50.000 km, a qual abriga 12 municpios, dentre os principais
Soure e Salvaterra que disputam o ttulo de capital do Maraj.
Plo Tapajs
Abriga um dos mais bonitos municpios paraenses, Santarm com uma grande
variedade de atraes tursticas, sendo o principal municpio deste plo situado na
confluncia com o rio Amazonas.
Atividade bastante apreciada na regio a pesca de tucunar; as vrias praias, rios,
lagos e as fazendas de bfalo tambm atraem muitos turistas para a regio.
Plo Araguaia Tocantins
Localizam-se neste plo os municpios de Barcarena, Conceio do Araguaia,
Marab e Tucuru. Trata-se de uma regio com grande potencial mineral (ferro, ouro,
bauxita e mangans), o que contribuiu para seu desenvolvimento. No municpio de
Tucuru est instalada a usina hidreltrica de Tucuru; com sua implantao
formaram-se praias e lagos piscosos atraindo muitos turistas regio. Na rea
mineral onde desenvolvido o Projeto Carajs est instalado um Parque Ecolgico.
Plo Xingu
Altamira o municpio que melhor representa este plo. O municpio considerado
o maior do mundo em extenso (dois mil quilmetros), rico em praias, histria
cultural e bastante piscoso pela presena do rio Xingu, fato que atrai turistas para
suas cachoeiras, corredeiras, praias de gua doce e praticantes da pesca esportiva.
653
Outra opo bastante procurada e prestigiada no estado do Par o Crio de
Nazar, no ms de outubro. A festividade ocorre durante 15 dias tendo como ponto
alto a romaria (2 Domingo do ms) reunindo cerca de 400 mil pessoas todos os
anos.
654
ESTADO DE RONDNIA
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/ro.html
Histria, Povoamento e Colonizao
O atual Estado de Rondnia surgiu da diviso de terras anteriormente pertencentes
ao Amazonas e Mato Grosso, quando da sua criao em 1943 chamava-se Territrio
do Guapor. Em homenagem ao Marechal Rondon (desbravador dos sertes do
Mato Grosso e Amaznia), o territrio recebeu o nome de Rondnia em 17 de
fevereiro de 1956, e em 1981 passou a integrar a Federao.
No sculo XVII algumas misses religiosas haviam chegado a regio. Portugueses
partiram de Belm no sculo XVIII subindo o rio Madeira at o Guapor chegando ao
arraial de Bom Jesus, atualmente Cuiab, onde descobriram ouro; a partir da,
exploradores bandeirantes vinham em busca das riquezas minerais.
Segundo o Tratado de Tordesilhas, a regio pertencia Espanha. Aps a entrada
das Bandeiras e o mapeamento dos rios (Madeira, Guapor e Mamor) nos anos de
1722 a 1747, os limites entre Portugal e Espanha foram redefinidos pelos Tratados
de Madri e Santo Ildefonso, ficando com Portugal a posse definitiva e a defesa dos
limites da regio. Em 1781 foram feitas as demarcaes da rea.
No sculo XIX, fase do ciclo da borracha, iniciou-se o povoamento juntamente com a
construo da ferrovia Madeira-Mamor e a explorao dos seringais.
Localizao e rea Territorial
Situado na regio Norte do Brasil (parte oeste).
Limita-se ao Norte com o Amazonas; a Leste e
Sudeste com o Mato Grosso; a Sudeste com a
Bolvia e Mato Grosso; a Oeste com a Bolvia e
a Noroeste com o Amazonas e Acre.
Dentro dos 238.512,8 km esto localizadas 52
cidades, tendo como populao estimada em
2000, 1.377.792 habitantes.Cidades como
Porto Velho, Ji-Paran, Ariquemes, Cacoal e Vilhena figuram entre as mais
populosas no estado.
655
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ro1.html#mapa
656
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rro.html
657
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hro.html
658
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/iro.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
659
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ro6.html
Governo
Governador: Ivo Narciso Cassol
Vice-governadora: Odasa Fernandes Ferreira
Palcio Presidente Vargas - Praa Getlio Vargas
CEP: 78.900-000
Fone: (0xx69) 216-5148
Fax: (0xx69) 216-5149
Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenao Geral e Administrao -
SEPLAD
Edmundo Lopes de Souza (secretrio)
Rua Padre Chiquinho, 580 - Esplanada das Secretarias
CEP: 78.904-060
Fone/Fax: (0xx69) 216-5069 / 5078 / 5083 / 5086
Secretaria de Estado de Finanas - SEFIN
Jos Genaro de Andrade (secretrio)
Av. Farquar, s/n. - Esplanada das Secretarias
CEP: 78.900-350
Fone: (0xx69) 216-5017
Fax: (0xx69) 229-1020
Secretaria de Estado da Segurana, Defesa e Cidadania - SESDEC
Paulo Roberto Oliveira de Moraes (secretrio)
Rua Gonalves Dias, 802 - Olaria
CEP: 78.904-600
Fone: (0xx69) 216-8913
Fax: (0xx69) 216-8913
Secretaria de Estado da Educao - SEDUC
Csar Licrio (secretrio)
Travessa General Osrio - Centro
CEP: 78.904-660
Fone: (0xx69) 223-3841 / 2834 / 216-5315
Fax: (0xx69) 216-5337 / 5339 / 5317
Secretaria de Estado da Sade - SESAU
Miguel Sena Filho (secretrio)
Av. Padre Angelo Cerri, s/n. - Esplanada das Secretarias
CEP: 78.904-660
Fone: (0xx69) 216-5287 / 5296
Fax: (0xx69) 216-5296 / 5080 / 5283 / 8380
Secretaria de Estado da Agricultura, Produo e do Desenvolvimento
Econmico Social - SEAPES
Av. Padre Angelo Cerri, s/n. - Esplanada das Secretarias
660
CEP: 78.904-660
Fone: (0xx69) 229-6265 / 221-9090 / 0743
Fax: (0xx69) 223-3173
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
Hamilton Nobre Casara (secretrio)
Estrada de Santo Antonio, 900 - Parque Cujubim
CEP: 78.900-000
Fone: (0xx69) 216-1059
Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer - SECEL
Luiz Carlos Venceslau (secretrio)
Pio XII, s/n. - Esplanada das Secretarias
CEP: 78.900-000
Fone: (0xx69) 216-5132 / 5133 / 5134
Fax: (0xx69) 216-5131
Clima e vegetao
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ro4.html#clima
Clima
Trs tipologias climticas podem ser identificadas em Rondnia.
- Equatorial quente e mido com trs meses de seca - tem sua ocorrncia registrada
ao Norte do Estado, fronteira com o Amazonas, mais precisamente nos municpios
de Machadinho d'Oeste, Candeias do Jamari e Porto Velho.
- Quente e mido com 1 a 2 meses de seca
- Quente e semi-mido com 4 a 5 meses de seca - estes dois ltimos referem-se a
uma pequena faixa de ocorrncia nos municpios de Colorado do Oeste e Cabixi.
As temperaturas mdias anuais variam de 24 a 26C. Durante os meses de junho,
julho e agosto ocorre o fenmeno da friagem, quando uma frente polar passa pela
regio registrando mnimos de at 8C. Julho o ms mais seco e, de setembro a
maio o ndice pluviomtrico ultrapassa 2.000mm/ano.
661
Vegetao
Apresenta-se variada, conforme a regio de ocorrncia.
Floresta Ombrfila Aberta
Ocorrncia: regio central, norte, sul e leste; praticamente a maior parte do territrio.
Caractersticas: apresenta quatro fisionomias (floresta de cip, de palmeiras, de
bambu e de sorocaba).
Floresta Ombrfila Densa
Ocorrncia: pequenas pores na regio central do estado
Caractersticas: constitui-se de palmeiras, trepadeiras lenhosas, epfitas e rvores de
mdio e grande porte.
Floresta Estacional Semidecidual
Ocorrncia: poro sul do Estado, em especial nos municpios de Vilhena, Colorado
do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenta Bueno.
Caractersticas: o percentual das rvores caduciflias gira em torno de 20 a 50 em
pocas crticas (perodo de seca).
Savana (Cerrado)
Ocorrncia: regio central, entre os municpios de Vilhena e Pimenta Bueno
Caractersticas: rvores baixas e retorcidas, cujas cascas so grossas e rugosas e
as folhas, grandes.
Vegetao Aluvial
Ocorrncia: localizada no entorno do rio Guapor
Caractersticas: a vegetao varia conforme a intensidade e durao da enchente.
Predominam os arbustos (accia, mimosa) e as herbceas (junco, rabo-de-burro).
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/ro5.html
Rondnia integra, juntamente com outros oito estados brasileiros a Amaznia Legal.
Apresenta um bom potencial turstico, em especial para o ecoturismo. Com a criao
da Superintendncia Estadual de Turismo, houve a normatizao e implantao de
aes que tm por objetivo desenvolver o estado neste setor.
Plos tursticos foram implantados para que os vrios municpios fizessem parte do
programa de desenvolvimento do turismo, cada qual no tipo de turismo que melhor
lhe conviesse. Dos plos formados esto:
- Bacias dos rios Guapor/Mamor/Madeira/Machado
Formada pelos municpios de Cabixi, Pimenteiras, Alto Alegre dos Parecis, Alta
Floresta, So Francisco do Guapor, Costa Marques, Guajar Mirim, Nova Mamor,
662
Porto Velho, Candeias do Jamari e Machadinho D'Oeste esto voltados para o
ecoturismo.
- Portes de entrada
Porto Velho, Guajar Mirim e Vilhena
- Turismo de Eventos
Porto Velho, Guajar Mirim, Ariquemes, Jar, Ouro Preto, Ji-Paran, Cacoal, Rolim
de Moura, Pimenta Bueno e Vilhena.
- Esportes de Natureza
Machadinho D'Oeste, Pimenta Bueno, Pimenteiras, Costa Marques, Guajar Mirim,
Campo Novo, Candeias do Jamari e Porto Velho.
- Turismo Rural
Porto Velho, Candeias, Jamari, Alto Paraiso, Ariquemes, Rio Crespo, Monte Negro,
Cacaulndia, Jar, Ouro Preto, Ji-Paran, Presidente Mdici, Alvorada,
Castanheiras, Novo Horizonte, Nova Brasilndia, Cacoal, Rolim de Moura, Santa
Luzia, So Felipe, Primavera, Parecis, Chupinguaia, Corumbiara, Vilhena e
Colorado.
Tambm se destaca o turismo de eventos, em especial nas cidades de Porto Velho
e Ji-Paran. O turismo voltado contemplao de marcos histricos culturais,
manifestaes e costumes populares tambm difundido.
A capital, Porto Velho, recebe o maior fluxo de turismo por ser a porta de entrada do
estado. Outros municpios como Ji-Paran - plo agroindustrial; Guajar Mirim -
turismo de eventos; Costa Marques - turismo ecolgico entre outros municpios
exemplificam as possibilidades tursticas do estado que tm como carro-chefe o
ecoturismo.
Pontos tursticos de relevncia em Rondnia
Estrada de Ferro Madeira-Mamor Praa das Trs Caixas D'gua
Catedral do Sagrado Corao de
Jesus
Ponte Metlica (Trecho Porto Velho - Guaraj
Mirim)
Prdio do Porto Velho Hotel Palcio Presidente Vargas
Real Forte Prncipe da Beira Prdio da Administrao Central da EFMM
Seminrio Maior Joo XXIII Vale do Apertado
Vale do Guapor Lagoa Azul
Rio Madeira Pedras Negras
Museu da Estrada de Ferro Museu Estadual
Praia de Santo Antonio Memorial Governador Jorge Teixeira
Capela de Santo Antonio de Pdua Parque Natural Municipal
Reserva Ecolgica Lago de Cuni Vila do Maici
Fortaleza do Abun
663
ESTADO DE RORAIMA
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/rr.html
Histria, Povoamento e Colonizao
Desde o incio do sculo XVI, portugueses, espanhis, ingleses e holandeses
disputavam o antigo territrio do Rio Branco. O povoamento da regio se deu
somente no sculo XVIII, aps o extermnio de muitos ndios.
Criou-se em 1858 por parte do Governo Federal a freguesia de Nossa Senhora do
Carmo, mais tarde (1890) transformada no municpio de Boa Vista do Rio Branco.
No ano de 1904, uma disputa territorial com a Inglaterra tirou a maior parte das
terras do Pirara (afluente do rio Ma) pertencentes ao Brasil, e incorporadas
Guiana Francesa.
O Territrio Federal do Rio Branco foi criado em 1943 e sua rea desmembrada do
estado do Amazonas. A partir de 13 de dezembro de 1962 passou a chamar-se
Territrio Federal de Roraima e, com a promulgao da Constituio de 1988 o
territrio foi transformado em Estado da Federao.
Localizao e rea Territorial
Apresenta uma rea total de 230.104 km e est localizado na parte noroeste da
regio norte do Brasil.
Faz limite ao norte e nordeste com a Venezuela; a leste com a Guiana; a sudeste
com o Par e ao sul e oeste com o Amazonas.Com 200.383 habitantes, o estado
est dividido em 15 municpios, sendo que sete destes foram criados em
1997.Encontra-se em Roraima o ponto mais extremo do Brasil, o Monte Cabura.
664
Mapa Geral
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rr1.html#mapa
665
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rrr.html
666
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hrr.html
667
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/irr.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
668
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rr2.html#governo
Governo
Governador: Francisco Flamarion Portela
Vice-governador: Salomo Afonso de Souza Cruz
Palcio Senador Hlio Campos - Praa do Centro Cvico, s/n.
CEP: 69.301-380
Fone: (0xx95) 623-1410 / 1372
Fax: (0xx95) 623-2440 / 1815
Secretaria de Estado do Planejamento, Indstria e Comrcio -SEPLAN
Cludio Marcelo Manguinho (secretrio)
Rua Coronel Pinto, 241 Bairro Centro
CEP: 69.301-150
Fone: (0xx95) 623-2419 / 1909 / 1845
Fax: (0xx95) 623-2209
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Jorci Mendes de Almeida (secretrio)
Praa do Centro Cvico, 466
CEP: 69.301-380
Fone: (0xx95) 623-1222 / 2407
Fax: (0xx95) 623-1943
Secretaria de Estado de Administrao - SEAD
Waldemar Mutran Paracat (secretrio)
Rua Coronel Pinto, 241
CEP: 69.301-150
Fone: (0xx95) 623-1653 / 2419
Fax: (0xx95) 623-2813
Secretaria de Estado da Educao, Cultura e Desportos - SECD
Ana Maria Lima de Freitas (secretria)
Praa do Centro Cvico, 471
CEP: 69.301-380
Fone: (0xx95) 623-1681 / 1803
Fax: (0xx95) 624-1408 / 224-3285
Secretaria de Estado da Sade - SESAU
Altamir RIbeiro Lago (secretrio)
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes s/n
Campus do Paricarana Bairro Mecejana
CEP: 69.304-650
Fone: (0xx95) 623-1309 / 623-9396
Fax: (0xx95) 623-1294
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar Social - SETRABES
ngela Maria Gomes Portela (secretria)
Avenida Mrio Homem de Melo, s/n - Bairro Mecejana
669
CEP:69.304-350
Fone: (0xx95) 623-1617 / 2801 / 2111
Fax: (0xx95) 623-9268
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAAB
Marcelo Marcos Levy de Andrade (secretrio)
Rua Gal. Penha Brasil, 1123 Bairro So Francisco
CEP: 69.305-130
Fone: (0xx95) 623-1511 / 1100 / 1437
Fax: (0xx95) 623-1187
Secretaria de Estado de Obras e Servios Pblicos -SOSP
Waldner Jorge Ferreira da Silva (secretrio)
Avenida Getlio Vargas, 1982-E Bairro Canarinho
CEP: 69.306-150
Fone: (0xx95) 623-1611 / 2449 / 1089
Fax: (0xx95) 623-1384
Secretaria de Estado da Segurana Pblica - SEGUP
Francisco S Cavalcante (secretrio)
Rua Arajo Filho, 703 Centro
CEP: 69.301-090
Fone: (0xx95) 623-2068
Fax: (0xx95) 623-2951
Secretaria de Estado de Justia e Cidadania
Natanael Alves do Nascimento (secretrio)
Av. Gal. Atade Teive, 4270 - Asa Branca
CEP: 69.300-000
Fone: (0xx95) 626-1217
Fax: (0xx95) 626-2166
Secretaria de Estado do ndio
Orlando de Oliveira Justino (secretrio)
Av. Bento Brasil, 2937 - So Vicente
CEP: 69.300-000
Fone: (0xx95) 623-0085
Fax: (0xx95) 623-1107
rgos Ambientais
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA
- Procuradoria da Repblica do Estado de Roraima PR/RR
- Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Interior e Justia - SEMAIJUS
- Secretaria Municipal de Servios Pblicos e Interior - SEMSI
- Fundao Estadual de Meio Ambiente, Cincia e Tecnologia de Roraima -
FEMACT/RR
670
Robrio Bezerra de Arajo (Presidente)
Av. Vile Roy, 816
CEP: 69.306-040
Fone: (0xx95) 623-1922
Fax: (0xx95) 623-1922
Geomorfologia e Relevo
Estende-se desde o Planalto das Guianas at o norte da Plancie Amaznica; cinco
paisagens geomorfolgicas diferentes podem ser observadas na regio.
1. reas inundveis - no apresentam forma definida, pois boa parte do ano
permanecem encobertas pelas guas.
2. Pediplano Rio Branco - ocupa grande parte do territrio, sendo por isso de
grande expresso. Suas altitudes variam entre 70 e 160m.
3. Serras - atingem aproximadamente 400 metros de altitude. Representam esta
unidade, Serra da Lua, Serra da Batata, Serra Grande e outras.
4. Cadeia - formada pela Cordilheira do Pacaraima, Serra do Parima e Serra do
Urucuzeiro; com altitudes entre 600 e 2.000 metros, abrigam as nascentes que
formam o rio Uraricoeira.
5. Monte Roraima - exemplifica esta unidade constituda por formaes elevadas,
as quais podem atingir prximo dos 3.000 metros de altitude. Monte Roraima
2.785m.
Hidrografia
Os rios Branco (45.530 km), Uraricoeira (52.184km), Catrimani (17.269 km),
Mucaja (21.602 km), Tacutu (42.904 km) e o Anau (25.151 km) banham o
territrio de Roraima, sendo a bacia do rio Branco a principal do Estado.
Bacia do Rio Branco
Segue o sentido norte-sul dividindo o estado em duas pores desiguais. formada
pelos rios Tacutu e Uraricoeira com um percurso total de 548 km dividindo-se em
trs segmentos.
Alto rio Branco: confluncia dos rios Uraricoeira e Tacutu, finda na cachoeira do
Bem-Querer; extenso 172 km.
Mdio rio Branco: inicia-se na cachoeira do Bem-Querer at Vista Alegre; extenso
24 km.
Baixo rio Branco: tem inicio em Vista Alegre percorrendo 388 km at encontrar-se
com o rio Negro.
Principais afluentes: Xeruin, gua Boa do Univini, Catrimari, Ajarani, Mucajai e
Cauam.
Clima
671
Duas tipologias climticas distintas se fazem presentes em Roraima.
A primeira, classificada como quente e mida, ocorre na poro oeste apresentando
estao seca pouco definida, com temperaturas na casa dos 24C e pluviosidade
anual prximo dos 2.000mm.
A outra, verificada a leste do estado caracterizada como quente e submida, com
estao seca bem marcada. Temperatura mdia anual de 24C e ndice
pluviomtrico de no mximo 1.500mm/ano. Entre maio e agosto ocorrem as chuvas
mais intensas.
Vegetao
A maior parte do estado, cerca de 72%, apresenta vegetao caracterstica de
floresta tropical; mata densa com rvores frondosas tpicas da regio amaznica.
Recobre o sul, o oeste e o norte.
J na poro nordeste, os campos cerrados predominam, rvores de 3 a 5 metros
de altura e gramneas rasteiras compem a paisagem. Prximo da capital Boa Vista,
algumas manchas de vegetao herbcea podem ser avistadas.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/rr4.html
Trata-se de um estado rico em belezas naturais sendo este um de seus maiores e
mais importantes patrimnios, o que atrai muitos visitantes, inclusive do exterior.
Entre seus principais pontos tursticos esto:
- Parque Nacional do Monte Roraima
Localiza-se na trijuno da fronteira do Brasil com a Venezuela e a Guiana. Altitude
de 2.875 metros
- Pedra Pintada
Importante stio arqueolgico situado a 140 quilmetros da capital; no local
encontram-se inscries rupestres nas paredes. A regio foi anteriormente um
imenso lago salgado, estando hoje, a 83 metros acima do nvel do mar.
- Lago Caracaran
Apresenta praias de areias alvas cercadas por cajueiros nativos. Dista 180
quilmetros de Boa Vista, mais precisamente no municpio de Normandia.
Sua veia cultural remonta aos povos indgenas, europeus e nordestinos marcando
fortemente os diversos aspectos regionais. A formao da populao local volta-se
bastante para a ocidentalidade, dando relevante importncia aos costumes, lendas e
crenas. Estas influncias culturais manifestam-se tambm na linguagem, na
msica, na dana, no teatro, nas artes plsticas, na culinria e outros aspectos.
672
Povos oriundos de vrios estados brasileiros - nordestinos, nortistas, gachos,
paranaenses e mato-grossenses - integram-se aos roraimenses incrementando
ainda mais os aspectos culturais, culinrios entre outros, associando a variedade de
frutas, peixes e condimentos, prprios da regio.
Culinria
Tacac, manioba, churrasco gacho, vatap, queijo mineiro e mais algumas
especialidades da culinria indgena deliciam os turistas e habitantes locais.
Logo cedo, no caf, so servidos os derivados da macaxeira ou mandioca. Tapioca,
p-de-moleque, bolo de macaxeira e cuscuz. No almoo, o cardpio variado.
Damorida - peixe moquecado, este no servido nos restaurantes por ser um prato
quente (apimentado) sendo particularidade das malocas indgenas; Chib com
carne assada; Caldeirada; Guisado de galinha caipira. Opes como a cozinha
rabe, indiana, italiana, francesa, churrasco gacho, comida nordestina e baiana
fazem parte do cardpio dos restaurantes locais.
Quanto as bebidas que acompanham os pratos, d-se preferncia quelas
tipicamente regionais, como os sucos de cupuau, graviola, buriti, aa e guaran,
puro ou acrescido de castanha, amendoim ou acerola, alm do vinho de buriti.
Tambm o artesanato e o folclore da localidade sofreram influncia das diversas
culturas j instaladas anteriormente (indgenas) ou, dos que para l migraram
(nordestinos, sulistas, portugueses e outros). O artesanato apresenta-se bastante
rico, com caractersticas indgenas, por exemplo, a cermica Macuxi (panelas
tpicas, trabalhos em madeira, palha e fibra). J o folclore, considerado um dos
mais expressivos, devido as diversas manifestaes populares.
673
ESTADO DE TOCANTINS
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/in
dex.html&conteudo=./estadual/to.html#historia
Histria, Povoamento e Colonizao
Em 1625, missionrios catlicos chefiados pelo frei Cristvo de Lisboa fundaram no
extremo norte de Gois uma misso religiosa. As correntes migratrias passaram a
ocupar a regio propagando suas culturas. Originrios de So Paulo e chefiados por
Bartolomeu Bueno, os sulistas, grande parte bandeirantes migraram para a rea; de
outro lado, povos de origem nordestina conquistaram seu espao.
Devido as dificuldades de acesso e o estabelecimento de vnculos comerciais entre
o norte e o sul, aumentaram significativamente as diferenas entre as regies que
passaram a desejar a separao. Na regio norte, em setembro de 1821, um
movimento proclamou Cavalcante e mais tarde Natividade como governo autnomo.
Passados 52 anos, foi proposta a criao da provncia de Boa Vista do Tocantins
no sendo aceito pelos deputados do Imprio.
Um Manifesto Nao elaborado e divulgado pelo Juiz da Comarca de Porto
Nacional no ano de 1956 foi assinado pela populao do norte revigorando a
separao.
Apresentado em 1972 o Projeto de Rediviso da Amaznia Legal, onde constava a
criao do Estado de Tocantins, este foi aprovado (27 de julho de 1988) pela
Comisso de Sistematizao e pelo Plenrio da Assemblia Nacional Constituinte.
O primeiro governador (Jos Wilson Siqueira Campos) tomou posse em 01/01/89 em
Miracema do Tocantins capital provisria at que Palmas, atual capital, fosse
construda.
Localizao e rea Territorial
Localiza-se a sudoeste da regio norte do Pas, limitando-se com o estado do
Maranho ao Norte; estados do Maranho, Piau e Bahia a Leste; com o estado de
Gois ao Sul e estados de Mato Grosso e Par a Oeste.
Foi criado com a promulgao da Constituio de 88 fazendo parte antes do estado
de Gois. Ocupa atualmente uma rea de 278.420,7 km onde distribuem-se
1.115.251 habitantes em seus 139 municpios.
674
Mapa Rodovirio
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rto.html
675
Mapa Hidrogrfico
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/hidrografia/hto.html
676
Imagem de Satlite
http://www.ambientebrasil.com.br/estadual/satelite/ito.html
Fonte: SatMdia Mosaicos LandSat 7 - 15 e 30m de resoluo
677
Mapa das Bacias Hidrogrficas
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/to1.html#mapa
678
Governo e rgos ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/to2.html#governo
Governo
Governador: Marcelo Miranda
Vice-governador: Raimundo Nonato Pires dos Santos
Palcio Araguaia - Pa dos Girassis - Marco Central
CEP: 77.003-020
Fone: (0xx63) 3318-1010 / 3215-1025
Fax: (0xx63) 3218-1092
E-mail: sgg-to@uol.com.br
Site: www.to.gov.br
Secretaria da Administrao
Zenayde Cndido Noleto (secretria)
Esplanada das Secretarias - Praa dos Girassis
CEP: 77.003-010
Fone: (0xx63) 3218-1500 / 1501 / 1502
Fax: (0xx63) 3218-1590
E-mail: secad.to.gov@uol.com.br
Secretaria de Agricultura e do Abastecimento
Nasser Iunes (secretrio)
Esplanada das Secretarias - Praa dos Girassis
CEP: 77.003-010
Fone: (0xx63) 3218-2102 / 2103
Fax: (0xx63) 3218-2190
E-mail: eventos@sab.to.gov.br
Secretaria de Comunicao
Sebastio Vieira de Melo (secretrio)
Palcio Araguaia - Praa dos Girassis - Marco Central
CEP: 77.003-020
Fone: (0xx63) 3218- 1078 / 1080 / 1079
Fax: (0xx63) 3218-1094
E-mail: secomto@zaz.com.br
Site: www.secomto@zaz.com.br
Secretaria de Educao
Maria Auxiliadora Seabra Rezende (secretria)
Esplanada das Secretarias - Praa dos Girassis
CEP: 77.003-900
Fone: (0xx63) 3218-1401 / 1402 / 1405
Fax: (0xx63) 3218-1491
E-mail: gabinete@seduc.com.br
Secretaria do Esporte
Jayme Sebastio Martins Loureno (secretrio)
Esplanada das Secretarias - Praa dos Girassis
CEP: 77.003-020
679
Fone: (0xx63) 3218-1118 / 1120
Fax: (0xx63) 3218-1095
Secretaria da Fazenda
Joo Carlos da Costa (secretrio)
Esplanada das Secretarias - Praa dos Girassis
Cep: 77.003-903
Fone: (0xx63) 3218-1202 / 1200 /1208
Fax: (0xx63) 3218-1291
E-mail: sefaz.to@terra.com.br
Secretaria da Infra-estrutura
Atade de Oliveira (secretrio)
Esplanada das Secretarias - Praa dos Girassis
CEP: 77.003-020
Fone: (0xx63) 3218-1602 / 1604 / 1601
Fax: (0xx63) 3218-1691
E-mail: gasec@seinf.to.gov.br
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Lvio William Reis de Carvalho (secretrio)
Esplanada das Secretarias - Praa dos Girassis - Centro
CEP: 77.085-050
Fone: (0xx63) 3218-1151 / 1155 / 1156
Fax: (0xx63) 3218-1098
E-mail: seplanse@sepla.to.gov.br
Secretaria da Sade
Eduardo Novaes Medrado Santos (secretrio)
Esplanada das Secretarias - Praa dos GirassisCEP: 77.085-050
Fone: (0xx63) 3218-1702 / 1703
Fax: (0xx63) 3218-1704
E-mail: medrado@saude.to.gov.br
Secretaria de Segurana Pblica
Cel. PM Napoleo de Souza Luz Sobrinho (secretrio)
Av. JK, ACNE - I, Cjto 01 - Lt. 18
CEP: 77.053-080
Fone: (0xx63) 3218-1801 / 1809 / 1800
Fax: (0xx63) 3218-1802
E-mail: ssp@ssp.to.gov.br
Secretaria do Trabalho e Ao Social
Severino Jos Costa Andrade de Aguiar (secretrio)
Esplanada das Secretarias - Praa dos Girassis
CEP: 77.163-060
Fone: (0xx63) 3218-1900 / 1903 / 1915 / 1985
Fax: (0xx63) 3218-1991 / 1990
E-mail: setasto@terra.com.br
680
Secretaria do Turismo
Nara Lcia de Melo Lemos Rela (secretria)
Esplanada das Secretarias - Praa dos Girassis - AANE
CEP: 77.003-900
Fone: (0xx63) 3218-2002
Fax: (0xx63) 3218-2090
E-mail: ascom@sictur.to.gov.br
rgos Ambientais
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis -
IBAMA
- Secretaria de Estado de Planejamento e Meio Ambiente - SEPLAN
Projetos e Programas Ambientais
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/to3.html#projetos
Projeto Prohiato
O Projeto Mesopotmia, em sua concepo preliminar, para estudos, pretende
substituir a ligao ferroviria pretendida entre Xambio e Estreito, por um canal
de navegao, tendo como subproduto, um formidvel programa de
desenvolvimento, com base na irrigao. O projeto, de carter privado, mas com
total apoio do Governo, , na realidade, um projeto de colonizao, com base na
irrigao. O Canal adutor deve ser dimensionado para comportar, alm da vazo
de gua necessria irrigao, a circulao de barcaas que, vindo do Rio
Araguaia, at as imediaes de Xambio, seguiriam diretamente at as
imediaes de Estreito, onde fariam o transbordo nico para o modal ferrovirio,
da Ferrovia Norte Sul.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - Tocantins
Projeto Jalapo
A Regio do Jalapo ou rea-programa Leste, constitui-se em uma rea
ecologicamente frgil, de campos e cerrados pouco densos, com terrenos
arenosos, mas com uma tima rede hidrogrfica, onde, pela dimenso de suas
reas, merece um estudo aprofundado para a explorao de atividades florestais,
tanto de carter industrial, para atender demanda de carvo vegetal e de
celulose de indstrias do Norte e do Sul, alm de ser propcia formao de
culturas de frutas compatveis com as condies naturais do solo, de hidrografia e
de clima local, sobretudo frutas tropicais, inclusive o coco, todos de forte
demanda nacional e externa. So 15.000 km de reas em processo de
degradao, que podem ser recuperadas por meio de plos florestais e
fruticultores.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - Tocantins
681
Plo Ecoturstico do Canto
Situado prximo ao municpio de Caseara, o Plo Ecoturstico do Canto est
situado ao norte da Ilha do Bananal. Possui vegetao e fauna diversificadas,
distribudas em um territrio generosamente banhado por trs grandes rios do
Estado: o Cco, o Javas e o Araguaia. O Canto oferece atrativos propcios s
atividades de turismo ecolgico, s pesquisas cientficas sobre a biodiversidade e
manuteno das riquezas naturais, reproduo das espcies da fauna e flora,
que contam com um habitat propcio a seu desenvolvimento. A formao de
inmeros lagos preservados e em total equilbrio favorece a observao da fauna
terrestre e a reproduo da aqutica, que encontrada em grande quantidade. O
Plo Ecoturstico do Canto um dos destaques potenciais do turismo no
Tocantins e no Brasil.
Atrativos do Plo Ecoturstico do Canto
Rio Araguaia - destaca-se por suas inmeras praias, consideradas as mais
bonitas do Estado, pela beleza de sua areias brancas e finas, entremeadas por
canais de guas transparentes e rasas. Ao longo das praias e dos canais,
formam-se pequenas ilhas e centenas de lagos em um ambiente semi-virgem,
com uma vegetao rica que atrai grande quantidade de aves e peixes. A
presena de grandes cardumes ao longo de todo o Rio Araguaia, sobretudo no
perodo da estiagem (junho a setembro), oferece as condies ideais para a
prtica da pesca desportiva.
Rio do Cco - com uma extenso de 180 km, com at 1.000 metros de largura e
20 metros de profundidade, proporciona agradveis praias durante a temporada
de vero (junho a setembro). Suas guas so verdes e mornas, e em toda a sua
extenso observa-se uma densa paisagem com caractersticas amaznicas.
Lagos - H um grande nmero de lagos, alguns circundados de pitoresca
vegetao ciliar, abundantes em peixes, tartarugas e jacars.
Paisagem - a paisagem do Parque Estadual do Canto apresenta um relevo
plano formado por sedimentares do quaternrio, exposto a forte influncia de
inundaes quando ocorrem as enchentes no Rio Araguaia. Tem uma diversidade
biolgica rica e exuberante, ainda pouco conhecida.
Flora - o aspecto relevante a riqueza de espcies, abrigando uma vasta
quantidade de espcies alimentcias, medicinais, ornamentais, forrageiras,
apcolas, produtoras de madeira, cortias, fibras, material para artesanato, leos,
etc.
Fauna - h uma predominncia de espcies aquticas ou ligadas ao meio
aqutico, que ocorrem em grande nmero de indivduos e so responsveis pela
beleza faunstica local. Lagos, lagoas e pntanos formam timas condies para
formao dos denominados "viveiros" - aglomeraes naturais de aves que ali se
congregam para nidificar.
Aspectos biolgicos interessantes para estudo - na poca das cheias, a gua
lava tudo, inunda tudo, os peixes encontram alimento (frutas, sementes e
pequenos animais) e talvez l tenham a sua reproduo. Quando chega a seca,
682
as guas recuam para o rio principal, onde os peixes se concentram em grande
abundncia.
Existem espcies de minhocas que se enterram no solo duro e no se sabe como
conseguem sobreviver seca e inundao. H grande abundncia de ninhos de
cupins, sendo evidente que as ilhotas de vegetao lenhosa se formam sobre
termiteiros rasos, mas existem tambm casas de cupim sobre as cascas das
rvores, engrossando-lhes os troncos, bem como termiteiras em cone, em coluna,
globosas e em chamin, com um a dois metros de altura. Como estes cupins
podem sobreviver alagao, assunto que deve envolver refinados
mecanismos de especializao. E existem ainda os prados de capinzais puros,
capinzais misturados, lamaais, lagoas, lagos, plantas aquticas jatantes ou
ancoradas, solos duros, trechos tufosos etc.
Os jacars so vistos por toda parte onde permanecem restos de gua. As aves
aquticas concentram-se em bandos. H caramujos espalhados pelo solo. Como
vivem, como se multiplicam, como conseguem contornar as limitaes do meio
ambiente, como competem, como se associam animais e plantas so assuntos
integrados muito interessantes que poderiam ser objeto de estudos por
pesquisadores.
Ilha do Bananal - est situada nas reas Programas Centro-Oeste e Sudoeste,
cercada pelos rios Araguaia e Java. Tem uma superfcie de mais de 1.000 km2 ,
e a maior ilha fluvial do mundo, est dividida em duas grandes reservas
ecolgicas: ao Norte fica o Parque Nacional do Araguaia, com 572 mil hectares, e
ao Sul o Parque Indgena do Araguaia, com 1,6 milhes de hectares. Residem no
seu interior duas naes indgenas: Java e Karaj, com uma populao de 1.600
habitantes.
Projeto Quelnios do Tocantins - o projeto atinge uma faixa de 50 km de
extenso s margens do Rio Formoso, no municpio de Lagoa da Confuso. O
objetivo do projeto o repovoamento da espcie no rio Tocantins e a manuteno
no rio Araguaia. No ano de 1996 o Projeto produziu cerca de 50.000 tartarugas.
Estratgias de Desenvolvimento
A concepo bsica do Plo Ecoturstico do Canto gerar, atravs de um
investimento concentrado, economias de escala na implantao de ofertas de
produtos tursticos variados, promovendo o Parque Estadual do Canto como
destino ecoturstico de classe mundial, criando condies competitivas frente aos
demais destinos tursticos mundiais. O manejo adequado do parque garantir a
preservao dos recursos naturais, necessria para promover a valorizao de
seu principal produto de comercializao - a natureza, garantindo a
sustentabilidade ambiental da regio a longo prazo.
Dessa forma, criar-se- um plo turstico composto de mdulos distribudos em
diversos pontos do Parque Estadual. Cada mdulo ser composto de unidades
habitacionais hoteleiras (UHH) infra-estruturadas em conjunto com um mix de
atraes (lojas, restaurantes, museus naturais) e atividades ecotursticas de todos
os nveis e natureza, de forma a atrair um fluxo turstico inicial estimado de 4.000
visitantes por ano, a partir do primeiro ano de operao. Os primeiros mdulos
podero ser implantados num horizonte de um a dois anos.
683
O Plo de Ecoturismo localizado no Parque Estadual do Canto dispor de:
Sistema de acesso por via terrestre asfaltada a partir de Palmas, ou por via
area, utilizando o futuro aeroporto do centro de recepo do plo, cais de
embarque no rio do Cco no municpio de Caseara, embarcaes tipo barco de
alumnio de 6 a 8 m com motor de popa ou hover-craft para traslado rpido ao(s)
mdulo(s), infra-estrutura hoteleira do tipo "lodges de selva" concentradas nos
mdulos e diversificada obedecendo a padres de baixa densidade ocupacional e
infra-estrutura comercial (boutiques, bares, lojinhas, restaurantes) diversificada
obedecendo a padres construtivos de arquitetura e regulamentao especfica;
reas de uso especfico que proporcionam atividades passivas/ativas (passeios
de canoa e/ou caiaque, a cavalo, a p, por sobre plataformas de madeira,
programas de pesca, visitas guiadas para observao da flora e fauna, inclusive a
outros atrativos ecotursticos, como a Ilha do Bananal e seus Parques Indgena e
Nacional);
Infra-estrutura turstica que permita atividades culturais, esportivas de baixo
impacto e de lazer;
Infra-estrutura e vias de locomoo interna no mdulo e nas reas de atrativos;
Infra-estrutura em rede de servios de abastecimento e de coleta de resduos;
Infra-estrutura operacional e de manuteno do mdulo e dos atrativos;
No detalhamento do Projeto Ecoturstico do Canto, sero levadas em conta as
preferncias dos vrios tipos de turista, considerando sua faixa etria, origem
cultural, capacidade fsica, padres de qualidade, poder aquisitivo, motivos de
viagem etc. Obviamente a implantao dos mdulos acontecer em etapas
planejadas em funo da viabilidade mercadolgica, operacional e econmico-
financeira do plo.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente Tocantins
Ilha do Bananal
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&co
nteudo=./estadual/mt5.html
Est situada entre os estados de Tocantins e Mato Grosso (1250 longitude e
940 latitude), cabendo sua jurisdio ao estado do Tocantins, com uma rea de
aproximadamente 2 milhes de hectares sendo considerada a maior ilha fluvial do
mundo e um dos mais importantes santurios ecolgicos do Brasil. Foi
descoberta em 26 de julho de 1773 por Jos Pinto Fonseca.
Vivem na ilha aproximadamente 13.700 habitantes, destes 1.700 ndios e os
demais, 12.000 brancos. No ano de 1959 o Governo Federal transformou a Ilha
em Reserva Ambiental abrigando vrios animais silvestres e milhares de
pssaros nas duas unidades de conservao existentes. Parque Nacional do
Araguaia - situada ao norte da ilha com 562.316 hectares e Reserva Indgena - ao
sul com 1.347.689 hectares.
684
Seu acesso, em especial na poca das chuvas (outubro a maro), feito pela
localidade de Gurupi (rodovia Belm/Braslia) at Formoso do Araguaia, visto que
dois teros da ilha so inundados, de Formoso do Araguaia at Canuan ou Porto
Piau as estradas no so pavimentadas.
Caractersticas fisiogrficas da Ilha do Bananal
Clima: predomina o tropical quente semi-mido com temperaturas mximas de
38 nos meses de agosto a setembro e mnimas de 22C em julho. Duas
estaes so bem marcadas na ilha, o vero (de novembro a abril) meses em que
predominam as chuvas, e o inverno (de maio a outubro) onde marca-se o perodo
da seca. A umidade relativa do ar registrada nas estaes mais definidas gira em
torno dos 60% (julho) e 80% (pocas chuvosas).
Geomorfologia/Solos: formaes do perodo quaternrio formam a extenso da
ilha, compondo assim a unidade geomorfolgica Plancie do Bananal. Por sua
vez, uma grande poro da ilha formada por solos classificados como
Latossolos Hidromrficos Distrficos e licos e outra pequena rea apresenta
solos do tipo Glei Pouco Hmico Distrfico.
Vegetao: tipologias caractersticas da faixa de transio entre Floresta
Amaznica e Cerrado com grande diversidade de espcies destes dois biomas.
Espcies florsticas de destaque so: maaranduba, aoita-cavalo, pau dalho,
canjerana, pau-terra, pequi, piaava, palmeiras e orqudeas da regio.
Hidrografia: dois rios limitam naturalmente a ilha. Na poro noroeste o rio
Araguaia que tm por seus principais afluentes os rios Babilnia, Diamantino, do
Peixe, Caiap, Claro, Vermelho e Crixs Au (margem direita) e rio Manso ou das
Mortes (margem esquerda). A leste a ilha limitada pelo rio Javas, o qual
composto dos seguintes afluentes em sua margem esquerda: Dider, Barreiro,
Aruari e Riozinho.
Merece destaque tambm, a fauna da ilha que rene vrias espcies como: ona
pintada, ariranha, suuarana, cervo, cachorro-do-mato-vinagre, boto, preguia,
(mamferos); ararauna, uirapuru, tuiui, gara-moura,colheireiro, urubu-rei (aves);
jacar-tinga, jacar-a, tartaruga-da-amaznia, jibias, surucucu (rpteis);
tucunar, pintado, arraias, poraqu, pirarucu,piranhas (peixes).
Projetos Ambientais
Projeto de Sequestro de Carbono
Este projeto financiado pela Fundao Inglesa AES Barry Foudation, com o
envolvimento de instituies pblicas, federal e estadual, empresa privada e
organizaes no governamentais, funcionando como um novo modelo de gesto
voltado para os programas de conservao e desenvolvimento no Parque
Nacional do Araguaia, Ilha do Bananal, Estado de Tocantins.
Seu desenvolvimento est previsto para um perodo de 25 anos, incluindo os
municpios de Caseara, Lagoa da Confuso, Cristalndia, Pium e Duer.
685
Ao final do perodo pr-estabelecido, estima-se que sejam sequestradas e
garantidas a preservao e estoque de carbono da ordem de 25.110.000t/C em 25
anos.
Turismo
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conte
udo=./estadual/to5.html
Sua localizao geogrfica marca o encontro entre vrios ecossistemas -
pantanal, cerrado e floresta tropical mida - o que garante uma boa
biodiversidade, vocacionando o estado para o ecoturismo. Medidas so tomadas
visando um melhor aprimoramento dos municpios no sentido de preservao dos
ambientes para que os mesmos tornem-se atrativos, desenvolvendo
economicamente os municpios. Para tanto, foram criadas regies ou plos
tursticos, basicamente voltados para o ecoturismo, ao todo so quatro:
- Plo Turstico de Palmas
Serras, cachoeiras, praias e rios como o Tocantins compem este plo voltado
para o ecoturismo, no qual esto inseridos os municpios de Palmas, Lajeado,
Miracema do Tocantins, Monte do Carmo, Paraso do Tocantins e Porto Nacional.
- Plo Turstico do Bico
Est situado entre os rios Araguaia e Tocantins, formado por praias e reas
vegetadas onde vivem pssaros de vrias espcies e animais silvestres atraindo
turistas por suas belezas naturais. Araguana, Araguan, Araguatins,
Tocantinpolis e Xambio.
- Plo Turstico dos Lagos
Trata-se de uma regio as margens do rio Araguaia onde naturalmente formam-
se praias. Araguacema, Caseara, Formoso do Araguaia e Lagoa da Confuso
integram este plo voltado pesca esportiva, aos passeios nuticos e as
caminhadas por trilhas.
- Plo Turstico das Termas e Gerais
Fazem parte deste plo os municpios de Arraias, Dianpolis, Gurupi, Ja do
Tocantins, Lizarda, Paran, Peixe, Ponte Alta do Tocantins, So Valrio,
Taguatinga do Tocantins e Natividade despontando como a capital cultural do
estado.
No fugindo regra dos demais estados brasileiros, tambm o Tocantins volta-se
explorao consciente e preservacionista do ecoturismo. A criao do
Complexo do Ecoturismo do Araguaia envolve diversos municpios das regies
sudeste e norte, alm do complexo ecoturstico, o estado conta com a Ilha do
Bananal como atrativo.
Você também pode gostar
- Educação AmbientalDocumento287 páginasEducação AmbientalThayanne Rios100% (2)
- Tablatura CarinhosoDocumento2 páginasTablatura CarinhosogutogamaAinda não há avaliações
- Planejamento Ambiental e Desenvolvimento SustentávelDocumento37 páginasPlanejamento Ambiental e Desenvolvimento SustentáveltiagoAinda não há avaliações
- Educação Ambiental Escolar: Espaço de (In)coerências na Formação das Sociedades SustentáveisNo EverandEducação Ambiental Escolar: Espaço de (In)coerências na Formação das Sociedades SustentáveisAinda não há avaliações
- UntitledDocumento71 páginasUntitledPEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA100% (1)
- Desenvolvimento HumanoDocumento32 páginasDesenvolvimento HumanoCarla SantanaAinda não há avaliações
- Educação Ambiental: A Sustentabilidade em ConstruçãoNo EverandEducação Ambiental: A Sustentabilidade em ConstruçãoAinda não há avaliações
- Bioarquitetura Na Área Urbana - Thiago Delgado PetilloDocumento144 páginasBioarquitetura Na Área Urbana - Thiago Delgado PetilloThiago Petillo100% (2)
- Meio Ambiente e Consumo Sustentável: O Papel do Código de Defesa do Consumidor na Concretização da Cidadania (Edição Atualizada)No EverandMeio Ambiente e Consumo Sustentável: O Papel do Código de Defesa do Consumidor na Concretização da Cidadania (Edição Atualizada)Ainda não há avaliações
- Manual de Educação Ambiental:: Uma Contribuição à Formação de Agentes Multiplicadores em Educação AmbientalNo EverandManual de Educação Ambiental:: Uma Contribuição à Formação de Agentes Multiplicadores em Educação AmbientalAinda não há avaliações
- Livro - Cadernos de Educação Ambiental EcocidadãoDocumento114 páginasLivro - Cadernos de Educação Ambiental EcocidadãoRutePinhoAinda não há avaliações
- Turismo, Desenvolvimento Local & Meio Ambiente:: Aglomeração Produtiva & Indicadores de SustentabilidadeNo EverandTurismo, Desenvolvimento Local & Meio Ambiente:: Aglomeração Produtiva & Indicadores de SustentabilidadeAinda não há avaliações
- Meio Ambiente, Responsabilidade Social e SustentabilidadeDocumento69 páginasMeio Ambiente, Responsabilidade Social e SustentabilidadeJéssica TussiAinda não há avaliações
- Contrato Particular de Compromisso de Compra Evenda de Bens Imóvei1Documento2 páginasContrato Particular de Compromisso de Compra Evenda de Bens Imóvei1Marcos LimaAinda não há avaliações
- Guia Eventos SustentaveisDocumento53 páginasGuia Eventos SustentaveisDaniela SallesAinda não há avaliações
- 2020 - Meio Ambiente, Sustentabilidade e Tecnologia - Capitulo 7Documento134 páginas2020 - Meio Ambiente, Sustentabilidade e Tecnologia - Capitulo 7Ana Paula MottaAinda não há avaliações
- LAJORO, Marisa ZILBERMAN, Regina. A Formação Da Leitura No Brasil PDFDocumento3 páginasLAJORO, Marisa ZILBERMAN, Regina. A Formação Da Leitura No Brasil PDFgutogamaAinda não há avaliações
- Projeto de Educação Ambiental Parque Cinturão Verde de CianorteDocumento19 páginasProjeto de Educação Ambiental Parque Cinturão Verde de CianorteDiego Crispim FerreiraAinda não há avaliações
- Antiguidade Clássica I PDFDocumento14 páginasAntiguidade Clássica I PDFMixisHGAinda não há avaliações
- Contrato de Prestacao de Servicos Profissionais - Responsavel Tecnico Pela Empresa - Crea 2019Documento2 páginasContrato de Prestacao de Servicos Profissionais - Responsavel Tecnico Pela Empresa - Crea 2019Giani Rotta TellesAinda não há avaliações
- Apostila de Ações de Polícia Comunitária 2º ModDocumento34 páginasApostila de Ações de Polícia Comunitária 2º ModlamouniermeloAinda não há avaliações
- R - e - Carla PelissariDocumento54 páginasR - e - Carla PelissariRenato CechinelAinda não há avaliações
- Meu ProjetoDocumento16 páginasMeu ProjetoEdmilson NogueiraAinda não há avaliações
- 4001 371375987 1 PBDocumento18 páginas4001 371375987 1 PBErika SilvaAinda não há avaliações
- Sustentabilidade Por ImprimirDocumento12 páginasSustentabilidade Por ImprimirJosé ZimbaAinda não há avaliações
- Sustentabilidade 5Documento7 páginasSustentabilidade 5Guilherme PilonAinda não há avaliações
- Apostila de EADS IDocumento23 páginasApostila de EADS IPablo SilvaAinda não há avaliações
- Trabalho 3 de Práticas Comunicativas e Criativas - 2º BimestreDocumento3 páginasTrabalho 3 de Práticas Comunicativas e Criativas - 2º BimestremariacrnobreAinda não há avaliações
- Aula Atividade AlunoDocumento8 páginasAula Atividade Alunofrancinildecoelho43Ainda não há avaliações
- A Reserva Particular do Patrimônio Natural: Alternativa Ambiental, Aspectos Econômicos e Argumentações CríticasNo EverandA Reserva Particular do Patrimônio Natural: Alternativa Ambiental, Aspectos Econômicos e Argumentações CríticasAinda não há avaliações
- Dissertação - A Educação Ambiental Como Instrumento de ParticipaçãoDocumento122 páginasDissertação - A Educação Ambiental Como Instrumento de ParticipaçãoLouise BragaAinda não há avaliações
- Laudato de SiDocumento3 páginasLaudato de Simary laraAinda não há avaliações
- Ações estratégicas nas redes de relacionamentos para a ecossustentabilidade: o projeto "Semana de Limpeza do Rio Pirapora" da Prefeitura Municipal de PiedadeNo EverandAções estratégicas nas redes de relacionamentos para a ecossustentabilidade: o projeto "Semana de Limpeza do Rio Pirapora" da Prefeitura Municipal de PiedadeAinda não há avaliações
- Documento de Jennyffer?Documento5 páginasDocumento de Jennyffer?jhennyffercarol167Ainda não há avaliações
- Curso Educação Ambiental (Rel.9)Documento34 páginasCurso Educação Ambiental (Rel.9)Gestão Ambiental Rodovias Do BrasilAinda não há avaliações
- TCC Artigo Educação Ambiental 2020Documento17 páginasTCC Artigo Educação Ambiental 2020Jose Augusto Ferreira de OliveiraAinda não há avaliações
- Relatório PodcastDocumento8 páginasRelatório PodcastSunshine karuAinda não há avaliações
- Educação Ambiental Projeto de EnsinoDocumento35 páginasEducação Ambiental Projeto de EnsinoMarco NalinAinda não há avaliações
- 2 Peojeto Meio Ambiente e SustentabilidadeDocumento12 páginas2 Peojeto Meio Ambiente e SustentabilidadeJosiane CamposAinda não há avaliações
- Observacao de Aves Como Ferramenta Da EdDocumento11 páginasObservacao de Aves Como Ferramenta Da Edprof.gustavofmleiteAinda não há avaliações
- Atividade I - Tea - Fabiana e HelineDocumento5 páginasAtividade I - Tea - Fabiana e HelinehelineAinda não há avaliações
- Universidade Metodista de Angol1Documento10 páginasUniversidade Metodista de Angol1Robilly OfficialAinda não há avaliações
- Projeto Quintal OrgânicoDocumento14 páginasProjeto Quintal OrgânicoOFICINATIVAAinda não há avaliações
- HERMENEGILDO Ética SocialDocumento15 páginasHERMENEGILDO Ética Sociallscomercial12Ainda não há avaliações
- Projeto Apoema AtualizadoDocumento16 páginasProjeto Apoema AtualizadoVanessa MacêdoAinda não há avaliações
- Trabalho Ev073 MD1 Sa14 Id9579 12102017144004Documento11 páginasTrabalho Ev073 MD1 Sa14 Id9579 12102017144004Camila Inácio FriasAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa 2 Ética e Ação Humana - Renata e WillianDocumento3 páginasAtividade Avaliativa 2 Ética e Ação Humana - Renata e Willianrenata.lisboaAinda não há avaliações
- Estudo da Ecoeficiência Mundial entre os Anos de 1991 e 2012No EverandEstudo da Ecoeficiência Mundial entre os Anos de 1991 e 2012Ainda não há avaliações
- A Emergência de Novas Subjetividades em Ecovilas: A Saga da Vida Comunitária e da Preservação AmbientalNo EverandA Emergência de Novas Subjetividades em Ecovilas: A Saga da Vida Comunitária e da Preservação AmbientalAinda não há avaliações
- Meio Ambiente - DesportoDocumento10 páginasMeio Ambiente - DesportoBeneplácido DivalaAinda não há avaliações
- Monografia Energia e SustentabilidadeDocumento34 páginasMonografia Energia e SustentabilidadeRomulo Henrique perin PerinAinda não há avaliações
- Manual de Avaliação e Monitoramento de Integridade Ecológica PDFDocumento75 páginasManual de Avaliação e Monitoramento de Integridade Ecológica PDFThomaz LipparelliAinda não há avaliações
- Educação Ambiental: Refletindo Sobre Aspectos: Históricos, Legais E Sua Importância No Contexto SocialDocumento13 páginasEducação Ambiental: Refletindo Sobre Aspectos: Históricos, Legais E Sua Importância No Contexto SocialGisele FerreiraAinda não há avaliações
- 4259 22383 2 PB PDFDocumento10 páginas4259 22383 2 PB PDFMaria SabrinaAinda não há avaliações
- O Conhecimento Ecológico Local Do Pescador e Da Pescadora Artesanal Do Bairro Coroa Do Meio em Aracaju SE Como Subsídio para Um Projeto de Educação AmbientalDocumento18 páginasO Conhecimento Ecológico Local Do Pescador e Da Pescadora Artesanal Do Bairro Coroa Do Meio em Aracaju SE Como Subsídio para Um Projeto de Educação AmbientalCarmelita SouzaAinda não há avaliações
- 05 - Responsabilidade SocialDocumento20 páginas05 - Responsabilidade SocialednamandarinahotmailAinda não há avaliações
- Trabalho de Etica AmbientalDocumento7 páginasTrabalho de Etica AmbientalAna Claudia LeiteAinda não há avaliações
- Objetivos, Principios, Caracteristica e Outros Sobre Educação Ambiental e SustentabilidadeDocumento4 páginasObjetivos, Principios, Caracteristica e Outros Sobre Educação Ambiental e SustentabilidadeGraziela Cunha100% (1)
- Artigo D. Sustentavel FSDBDocumento10 páginasArtigo D. Sustentavel FSDBAnne HaydenAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Sustentável Deve Estar Aliado À Educação AmbientalDocumento2 páginasO Desenvolvimento Sustentável Deve Estar Aliado À Educação AmbientalKatia L. BarrosoAinda não há avaliações
- Direito Tributário Ambiental - Desenvolvimento Sustentável e Proteção Ambiental Por Meio Dos Incentivos FiscaisDocumento56 páginasDireito Tributário Ambiental - Desenvolvimento Sustentável e Proteção Ambiental Por Meio Dos Incentivos FiscaisalietitorresAinda não há avaliações
- Texto EstudantilDocumento14 páginasTexto EstudantilJulián RéisAinda não há avaliações
- Guia - Salvador - 1 EdicaoDocumento77 páginasGuia - Salvador - 1 EdicaoMagoSolar100% (1)
- Questionário Pesquisa CampoDocumento6 páginasQuestionário Pesquisa CampoBeatriz CândidoAinda não há avaliações
- Tese Mestrado Venancio UFSCDocumento216 páginasTese Mestrado Venancio UFSCalietitorresAinda não há avaliações
- Geraldi - Portos de Passagem PDFDocumento14 páginasGeraldi - Portos de Passagem PDFgutogama50% (4)
- Huberman M o Ciclo de Vida Profissional Dos Professores PDFDocumento30 páginasHuberman M o Ciclo de Vida Profissional Dos Professores PDFMauren Bergmann100% (1)
- O Conceito de Pessoa Moral Como Critério para Análise Do Aborto Provocado PDFDocumento295 páginasO Conceito de Pessoa Moral Como Critério para Análise Do Aborto Provocado PDFgutogamaAinda não há avaliações
- O Descaso Com o Patrimônio Cultural Da Cidade de Boa Vista RRDocumento15 páginasO Descaso Com o Patrimônio Cultural Da Cidade de Boa Vista RRgutogamaAinda não há avaliações
- José Augusto Maciel TorresDocumento8 páginasJosé Augusto Maciel TorresAdolfo MenezesAinda não há avaliações
- Edital Fundação Casa 2010 - Vagas para Agente SocioeducativoDocumento20 páginasEdital Fundação Casa 2010 - Vagas para Agente SocioeducativoWT Centro de Estudos e Capacitação ProfissionalAinda não há avaliações
- Atividade de AprendizagemDocumento6 páginasAtividade de AprendizagemPAULA SOLCIAAinda não há avaliações
- Nota Técnica 31 - 2014Documento17 páginasNota Técnica 31 - 2014Victor SousaAinda não há avaliações
- Currículo AthanisDocumento2 páginasCurrículo AthanisAthanis RodriguesAinda não há avaliações
- Curso 120879 Aula 09 Profs Carlos Roberto e Marcio Damasceno v1Documento58 páginasCurso 120879 Aula 09 Profs Carlos Roberto e Marcio Damasceno v1aparecida nascimenAinda não há avaliações
- 197 - 1 Revista JurisprudênciaDocumento396 páginas197 - 1 Revista JurisprudênciaMarcel SanchezAinda não há avaliações
- Resolucao 962 - 2010 Portal CFMVDocumento4 páginasResolucao 962 - 2010 Portal CFMVT PAinda não há avaliações
- Inspeção Tributária e Seus Eventuais VíciosDocumento56 páginasInspeção Tributária e Seus Eventuais VíciosJPAAinda não há avaliações
- Codigo Conduta ForeseaDocumento2 páginasCodigo Conduta ForeseaAndreen SantosAinda não há avaliações
- 4249 05112014Documento152 páginas4249 05112014franciscomarianoAinda não há avaliações
- Anotacao CtpsDocumento4 páginasAnotacao CtpsShishya Deva KamadevaAinda não há avaliações
- Contratos Av2Documento7 páginasContratos Av2Lacilda Miranda de SouzaAinda não há avaliações
- Direito Romano - ResumoDocumento38 páginasDireito Romano - ResumoJosilda GabrielAinda não há avaliações
- 3 Chamada Pública SalvadorDocumento31 páginas3 Chamada Pública SalvadorLeleu1Ainda não há avaliações
- PoligamiaDocumento11 páginasPoligamiaedulas buskett100% (2)
- Codigo de Etica Profissional Do Contador Cepc PDFDocumento7 páginasCodigo de Etica Profissional Do Contador Cepc PDFCamila MeloAinda não há avaliações
- Aca DanielDocumento14 páginasAca DanielLourenço FloresAinda não há avaliações
- Erro MédicoDocumento173 páginasErro MédicoGuaracy ClementinoAinda não há avaliações
- 4.decreto - 3048 - Compilado - de 1999 PDFDocumento231 páginas4.decreto - 3048 - Compilado - de 1999 PDFEdu RochaAinda não há avaliações
- Cartilha Aprendendo A Prevenir MPDFT 2006Documento28 páginasCartilha Aprendendo A Prevenir MPDFT 2006Isvânia AlvesAinda não há avaliações
- Atos Administrativos - Parte I Roteiro de Aula: Fernanda Marinela Fernandamarinela @fermarinelaDocumento31 páginasAtos Administrativos - Parte I Roteiro de Aula: Fernanda Marinela Fernandamarinela @fermarinelaBianca CastroAinda não há avaliações
- Deontologia Jurídica e Deveres Do AdvogadoDocumento22 páginasDeontologia Jurídica e Deveres Do AdvogadoAlexandro Gianes CardozoAinda não há avaliações
- Aula 1 e 2 - Legislação e Mercado de BebidasDocumento28 páginasAula 1 e 2 - Legislação e Mercado de Bebidasanon_500171009Ainda não há avaliações
- Imt - Iv - 17987Documento8 páginasImt - Iv - 17987Catarina ResendeAinda não há avaliações