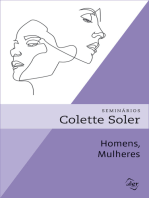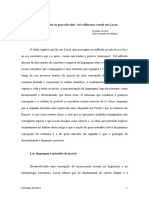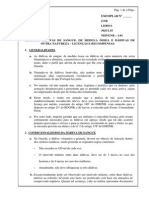Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
As Eróticas Lacanianas - Ana Lucia PDF
Enviado por
Cardes PimentelDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
As Eróticas Lacanianas - Ana Lucia PDF
Enviado por
Cardes PimentelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AS ERTICAS LACANIANAS
E A INEXISTNCIA DO OUTRO
Ana Lucia Lutterbach Holck
Mestre em
Filosofia, UFMG;
doutora em Teoria
RESUMO: Considerando que, na atualidade, a ordem social sofre uma
Psicanaltica, URFJ;
psicanalista, radical transformao decorrente do declnio da funo paterna e
membro da dos ideais, e que isto exige a inveno de um lao social diferente do
Associao estabelecido nas frmulas tradicionais, a tese central deste artigo
Mundial de
Psicanlise (AMP) de que h uma ertica a partir de um novo enlace com o feminino.
e da Escola Definem-se, pois, as linhas que condicionariam essa ertica orienta-
Brasileira de da pela impossibilidade de complementaridade na relao entre os
Psicanlise (EBP).
sexos. Os pontos essenciais dessa nova modalidade de gozo so res-
saltados com comentrios sobre uma situao exemplar retirada da
literatura.
Palavras-chave: Ertica, gozo, feminino.
ABSTRACT: Lacanian erotics and non-existence of the Other. The cen-
tral thesis points out that there is erotic based on new links with
feminine, due to the fact that new social encirclements, distant from
traditional, are being developed nowadays as a consequence of ma-
jor changes in social order caused by the fall of paternal functions
and of some well established ideals. It also defines the lines which
condition this erotic guided by the impossibility of a complemen-
tary relation between the two sexes. Stress is made on the basic points
of this new kind of rejoice by means of commented example chosen
from world literature.
Keywords: Erotic, rejoicing, feminine.
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
226 ANA LUC IA LUTTERBACH HOLC K
O impasse sexual secreta as fices que racionalizam a impossibilidade da qual ele provm.
(Lacan, 1974/2003, p.531)
ERTICA E PSICANLISE
Lacan observa que a psicanlise no foi muito longe na investigao de uma
ertica, apesar de ter produzido uma importante mudana de perspectiva sobre
o amor, e considera que o problema da feminilidade um dos sinais mais paten-
tes de uma tal carncia, um ponto opaco na teoria da sexualidade, como o pr-
prio Freud confidenciou a Jones: depois de trinta anos de experincia e refle-
xo, continua havendo um ponto sobre o qual fico sem poder dar respostas: Was
will das Weib? O que quer a mulher? O que ela deseja? (LACAN, 1959-1960/
1988, p.18).
Essa observao nos instigou a formular as erticas lacanianas com as seguin-
tes questes: se o problema da feminilidade um dos sinais de carncia de uma
ertica, qual seria a funo do feminino em uma investigao sobre a ertica?
Qual o tratamento dado ao real do sexo e a maneira como se produz o feminino,
na ertica do notodo?
Em O uso dos prazeres, Foucault (1984) observa que o termo sexualidade s
surgiu no incio do sculo XIX. Na antiguidade, os gregos dispunham de um
vocabulrio para designar prticas de prazer precisas e no havia uma categoria
geral que inclusse todas as prticas. No existia um substantivo que agrupasse
numa noo comum o que poderia haver de especfico da sexualidade masculina
e feminina, mas distinguiam-se claramente dois papis, o de sujeito e o de obje-
to, aquele que exerce a atividade e aquele sobre o qual ela se exerce.
A Ertica na antiguidade definia, segundo Foucault (1984), o que deveria ser
a relao de um homem com um rapaz, em referncia a Eros, para atingir a mais
bela e mais perfeita forma e determinar qual uso deveriam fazer de seus prazeres.
A ertica platnica era masculina e prevaleciam as relaes entre Eros e verda-
de. O sexo, apesar de secundrio, devia ser praticado entre aqueles que se ocupa-
vam da verdade, e o amor era a estratgia, a via para se alcanar este saber. As
mulheres ficavam parte, se ocupavam de outras prticas, no temos as palavras
veiculadas por elas ou entre elas, porque as palavras femininas no produziram
um conhecimento, no tiveram registro.
Nos primrdios do cristianismo, realizam-se modificaes fundamentais que,
em muitos aspectos, regem a moral de hoje. At Freud, as necessidades sexuais
estavam ancoradas na suposio de um instinto sexual correlato ao instinto ani-
mal, cujo objeto para cada sexo seria o sexo oposto e o objetivo, a reproduo.
Ao propor o termo pulso sexual, Freud subverte essa idia afirmando que
no h nada pr-escrito ou instintivo nas relaes entre a satisfao, o objeto e os
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
AS E RTICAS LACAN IANAS E A I N EXISTNC IA DO OUTRO 227
fins da sexualidade, de tal forma que, desde ento, toda a idia de que o sexo
normatizado pela natureza aparece como inconsistente, como se expressa Badiou
(2005). Freud faz uma distino entre o sexual, o genital e a reproduo, e inclui
na vida sexual a funo de obter prazer em todo o corpo, elaborando uma teoria
da sexualidade indita, inteiramente calcada em sua experincia clnica.
Para Freud, o interesse exclusivo de um sexo pelo sexo oposto no um fato
evidente em si mesmo, tanto quanto a escolha pelo objeto do mesmo sexo. A
escolha de objeto no natural, a pulso no est determinada pelos atrativos do
objeto, nem tem como objetivo, unicamente, a reproduo e a unio sexual.
Algumas prticas preliminares que se situam no caminho da cpula, como tocar
e olhar, so reconhecidas como objetivos sexuais.
Ao contrrio da vida ertica da antiguidade, quando se glorificava a pulso e
o objeto ocupava um lugar secundrio, Freud (1905/1969) observa que entre
ns h uma valorizao do objeto e a atividade pulsional desprezada. No entan-
to, a origem da pulso no est determinada pelos atrativos do objeto, estes tm
uma importncia secundria, o primordial e constante na pulso sexual o ob-
jeto que se constitui no prprio circuito pulsional.
Na obra freudiana, apesar do amplo desenvolvimento de uma teoria da sexua-
lidade e do termo ertica ser mencionado numerosas vezes, este s aparece
como qualidade ou carter de um estado. No h, em Freud, uma conceituao
da ertica enquanto tal.
Nenhum artigo ou seminrio de Lacan est dedicado ao assunto e apenas em
algumas passagens ele faz referncia ertica, uma delas a questo do Seminrio
7, j mencionada antes. Em outra passagem, dois anos depois, no seminrio
sobre a identificao, ele afirma que somente se concebe a psicanlise tendo
como alvo os fins ltimos de uma ertica mas no cabe psicanlise propagar
uma nova ertica. Cabe aos analistas buscar solues clnicas singulares em cada
caso, uma vez que mesmo nas pessoas mais normais isso no funciona (LACAN,
14/03/1962).
Assim, para Lacan, tratando-se de psicanlise: sexualidade e ertica no so
coincidentes; a ertica condiciona sua experincia mas no cabe psicanlise
propag-la e no seria possvel estabelecer padres a serem alcanados. E, por
fim, isso no funciona, isto , no existem prticas sexuais que garantam um
funcionamento regular de um sexo a outro mas definem-se em cada sujeito
atravs de condies singulares de gozo.
Em Freud, o prazer o funcionamento temperante do corpo e da alma, o nvel
mais baixo de tenso, sem nenhuma perturbao, um meio termo entre o exces-
so e a falta. Alm do princpio do prazer, Freud detecta a pulso de morte, uma
satisfao que excede ao prazer e, ao contrrio da pulso sexual, produz
desconexes.
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
228 ANA LUC IA LUTTERBACH HOLC K
Para essa outra satisfao, Lacan (1972-73/1982) introduz um conceito que
no freudiano, o gozo, operando uma transformao sobre o princpio do
prazer freudiano de tal maneira que lhe permite afirmar que a realidade abor-
dada com os aparelhos de gozo.
Apesar de o gozo estar na via aberta pela teoria da sexualidade, Miller (1995-
1996) pontua duas importantes diferenas entre o gozo e a sexualidade freudiana:
a libido est orientada pela concepo de desenvolvimento e de etapas, enquanto
o gozo uma libido sem desenvolvimento; a sexualidade seria uma relao de
um corpo sexuado a outro corpo sexuado, enquanto o gozo, ao contrrio da
libido freudiana que circula, investe e desinveste, no uma relao, aborda o
objeto sem se dirigir ao outro, autstico.
Como no h em Freud e Lacan uma conceitualizao para o termo, para
efeito dessa investigao, denominamos ertica as diferentes estratgias subjetivas
na abordagem do objeto e o enlace com o feminino.
Diante dos impasses atuais decorrentes do declnio da funo paterna e da
mutao dos lugares do feminino na cultura, perdem eficcia os significantes
que asseguravam um ponto de basta para a mulher, uma vez que o prprio ponto
no basta mais como tratamento do real. Esse fracasso da funo abre um outro
espao circunscrito pela amarrao entre os registros, real, imaginrio e simb-
lico, criando formas de enlace do feminino que inauguram uma nova topologia.
A formulao das erticas lacanianas uma maneira de pensar os laos
com o feminino na contemporaneidade, a partir da doutrina dos gozos em Lacan.
Para localizar na experincia, essa nova topologia em que h uma prevalncia do
real sobre o ideal, recorro experincia literria, escrita com o feminino que, ao
se articular como osso quando a linguagem carne,1 torna-se um savoir-faire com
a inexistncia da mulher.
ERTICAS LACANIANAS
Das modulaes do conceito de gozo que acompanharam o progresso das elabo-
raes lacanianas, Miller (1998-1999/2003) estabelece seis paradigmas, orde-
nados de acordo com os registros Real, Simblico e Imaginrio. Para articular as
erticas lacanianas destacamos dois destes paradigmas: o primeiro o gozo im-
possvel, paradigma situado no Seminrio 7 (1959-1960/1988), do qual retiramos
nossa questo preliminar. O segundo, o paradigma do gozo da no-relao, refere-se
poca do Seminrio 20 (1972-1973/1975), perodo em que Lacan elabora as
frmulas da sexuao e o gozo feminino especificado.
1 Lcriture nest depuis ses origines, jusqu ses derniers protismes techniques, que quelque chose qui sarticule comme
os dont le langage serait la chair (LACAN, Sminaire 18: DUn discours qui ne serait pas du semblant, lio de 9/
6/1971. Indito).
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
AS E RTICAS LACAN IANAS E A I N EXISTNC IA DO OUTRO 229
Segundo Miller (1998-1999/2003), o gozo impossvel est no campo do
real da Coisa que faz barreira ao imaginrio e ao simblico. Conectado ao horror,
descrito como fora do simblico e tem um carter absoluto, est do lado da
Coisa, colocada num lugar abissal, um gozo macio. O gozo impossvel a satis-
fao pulsional que se mantm fora da significao; o gozo fica reduzido ao
lugar vazio, introduzindo a possibilidade de um suplemento para preench-lo,
que nunca ser adequado. Fundamentados neste paradigma, a partir das distintas
estratgias para abordar das Ding, identificamos a ertica do amor corts e a erti-
ca do espao trgico.
Mais tarde, Lacan substitui o isso no funciona do Seminrio 9 (1961-1962)
pelo aforismo: no h relao. Esse aforismo sua maneira de abordar os
impasses contemporneos quando a sexualidade no est inteiramente regida
pela lei do pai e as formas tradicionais de relao no so mais suficientes para
dizer o que ocorre no campo do sexo. Neste contexto, ele retoma a tica e a
questo freudiana O que quer uma mulher? para elaborar as frmulas da sexuao
e o gozo feminino. No paradigma da no-relao, situamos a ertica do notodo,
perspectiva em que Lacan abandona o trgico e adota a lgica como operador, o
desejo perde sua pureza e das Ding d lugar ao objeto a, estabelecendo uma topologia
em que o real no est mais alm, mas ex-siste ao simblico.
ESTRATGIAS DO GOZO IMPOSSVEL
Como h no gozo impossvel uma clivagem entre o significante e o que est fora
da simbolizao, o enlace entre o gozo e o Outro realiza-se atravs de duas estra-
tgias subjetivas em relao das Ding: a sublimao e a transgresso.
Ao distinguir das Ding na obra freudiana, destacando sua importncia como
um conceito necessrio para o progresso de sua investigao, Lacan assume ple-
na responsabilidade por seu uso.
Das Ding, a Coisa, seria o ponto inicial, anterior a qualquer experincia, vazio
onde supostamente esteve o primeiro objeto de satisfao, objeto perdido que
preside a busca na experincia de satisfao, em torno do qual se organiza o
aparato psquico.
Nos trilhamentos que se formam a partir da experincia de satisfao e em
suas associaes com os trilhamentos anteriores, Lacan situa a cadeia significan-
te, edificada a partir da fenda aberta pelo significante no real, uma topologia da
subjetividade que se constitui em torno a das Ding: esse aparato essencialmente
uma topologia da subjetividade da subjetividade uma vez que ela edificada
e construda na superfcie do organismo (LACAN, 1959-60/1988, p.55).
A sublimao seria uma forma paradoxal de satisfao pois o gozo obtido
pelas vias aparentemente contrrias s do gozo , o alvo seria atingido sem
recalque, sem apagamento, cingindo a Coisa e no indo ao seu encontro, e sua
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
230 ANA LUC IA LUTTERBACH HOLC K
forma exemplar a ertica do amor corts, que se mantm no princpio do
prazer.
Na transgresso, o gozo estaria, ao contrrio, no ultrapassamento das barreiras,
propiciando o encontro com a Coisa, campo alm do princpio do prazer. Neste
caso, as barreiras que fazem obstculo ao objeto so atravessadas no encontro
com a Coisa, especificando um gozo alm do princpio do prazer, onde situamos
uma ertica do trgico em duas vertentes: de um lado, o gozo veiculado pelo
personagem trgico ao realizar o desejo puro, sem nenhum interesse fenomnico,
no encontro com a Coisa; do outro, o gozo catrtico, o atravessamento do temor
e da piedade experimentado pelo espectador diante do espetculo trgico pro-
duzido pela realizao do desejo puro.
ERTICA DO AMOR CORTS
Na sublimao, trata-se de uma posio em relao problemtica do Outro
absoluto, da mulher impenetrvel ou, por trs desta, a figura da morte, como nos
diz Lacan (1956-1957/1995) no final do Seminrio 4: A relao de objeto. nessa
perspectiva da sublimao que Lacan (1959-1960/1988) toma o amor corts,
do comeo do sculo XII, situando a uma modificao histrica de Eros, forma
de uma ertica masculina e princpio de uma moral na cultura ocidental.
O trovador cria o poema ou canto ex-nihilo; no h nada preexistente, e
coloca neste nada uma mulher particularizada em seu corpo e sua beleza. Uma
maneira de no fugir da Mulher, no fugir desse vazio cruel e enlouquecedor
girando em torno desse vazio, cercando-o atravs da arte de dizer e de cantar.
Essa arte do enlace no uma ascese moral, mas uma criao esttica a servio
de uma ertica.
Assim, o amor corts um exerccio potico no qual o objeto feminino
esvaziado de toda substncia real e introduz-se pela privao, pela inacessibilidade.
A Mulher ou a Dama isolada por uma barreira que a circunda, protegendo o
sujeito do encontro com o inominvel.
No entanto, apesar de a ideologia do amor corts visar expressamente o lado
de exaltao ideal, ele desempenha um outro papel, o de limite, pois sua funo
precisamente contornar o objeto, tornando-o inacessvel, uma vez que o en-
contro com a Coisa acarretaria um gozo insuportvel, alm do princpio do pra-
zer. Seria, como diz Lacan (1972-73/1982), uma maneira refinada de suprir a
ausncia da relao sexual, fingindo que somos ns que lhe impomos obstcu-
lo. aqui, segundo Lacan, que entra em jogo a funo tica do erotismo aludida
continuamente por Freud mas nunca formulada. As tcnicas em questo no amor
corts articulam-se com os prazeres preliminares dos Trs ensaios (FREUD,1905/
1972), ou seja, certas maneiras intermedirias de se relacionar com o objeto que
antecedem o coito e so prazerosas em si mesmas. O ato de cortejar engendra a
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
AS E RTICAS LACAN IANAS E A I N EXISTNC IA DO OUTRO 231
beleza, esteio do desejo, a regra do obstculo necessrio, da interdio que no
recalcamento do desejo mas, ao contrrio, o possibilita.
A regra do amor corts assai (JULIEN,1996), a colocao do amante prova
pela dama. Impe-se uma demora, preciso o tempo do bem-dizer, permitindo
o nascimento do desejo para que o ato sexual no seja violncia.
Segundo Julien (1996), alguns historiadores interpretam o assai como uma
recusa do ato sexual, considerando a castidade pressuposta no amor corts como
um meio de evitar o ato que o faria perecer, confundindo a castidade corts com a
continncia sexual. Assim, a regra do assai, os prazeres preliminares sem o ato
sexual, permitiram uma interpretao de que o ato no deveria ocorrer ou que
era da ordem do segredo. Semelhante ao lugar da amizade (philia) na Grcia
antiga que, situada nos arredores do ato sexual, sua funo era preparar, separar,
cercar e restringir exteriormente o instante atroz do coito. Mas a philia ia at onde
comeava o coito (MILNER,1997).
Porm, interpretado pela via da sublimao, como sugere Lacan (1959-1960/
1988), a interdio do ato torna-se a prpria condio para realiz-lo, pois a interdi-
o desperta o desejo purificado da brutalidade ou da rotina. A sublimao perde,
assim, seu carter freudiano de dessexualizao e, associado aos prazeres prelimina-
res, permite um jogo de seduo prvio ao ato, uma preparao de onde nasce, com
a fantasia, o suporte do desejo como desejo do Outro. O gozo domesticado pela
beleza que o recobre com seu brilho. Trata-se no amor corts, como lembra Julien
(1996), de enfrentar a crueldade do assai e de conquistar o desejo do Outro.
Ao explicar o fenmeno do amor corts como uma obra de sublimao, Lacan
(1959-1960/1988) pretende explicar como um objeto, a Dama, toma valor de
representao da Coisa.
Ao situar a mulher neste ponto de para-alm, o amor corts colocou-a no
lugar do ser, o que no lhe concerne enquanto mulher mas enquanto objeto de
desejo. Portanto, essa potica no fala da mulher e para a mulher, mas do destino
que pode ser dado ao feminino, como um ideal inabordvel.
ERTICA DO ESPAO TRGICO
Referindo-se razo pura kantiana, Lacan, na tica (1959-1960/1988), coloca o
desejo como totalmente desinteressado, isto , incondicionado pela sensibilida-
de, pelos fenmenos. um desejo sem condio, absoluto, sem finalidade. Com
este movimento produz um deslizamento do desejo produzido por um objeto
da experincia, para o desejo puro, cujo objeto vazio real.
Para evidenciar a funo do desejo puro, Lacan utiliza as coordenadas do
espao trgico da pea de Sfocles, Antgona. Ao trgica sem qualquer pretenso
benfica, paradigma do desejo purificado do bem e do belo, do desejo como
condio absoluta, radical.
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
232 ANA LUC IA LUTTERBACH HOLC K
De Sade, Lacan (1960-1961/1991) retira a idia de duas mortes: a primeira
morte estaria ligada ao fim da vida, seu desenlace acidental ou na velhice; a
segunda morte relativa pulso de morte e define-se sob a frmula paradoxal
de que o homem aspira a aniquilar-se para eternizar-se, inscrever-se em outros
termos do ser, como ocorre no espao da tragdia antiga. A segunda morte arti-
cula-se ao sujeito enquanto barrado pelo significante, numa relao com a lin-
guagem que o obriga como falante a dar conta do que ele e no como sujeito.
Antgona levada por uma paradoxal paixo insensvel (LACAN, 1959-1960/
1988), abandona os gestos sensatos, abandona-se insensatez do desejo puro e,
ao se decidir, transpe o limite dos bens e da felicidade. Algo alm desses bens
tornou-se para ela seu Bem, nada pode dissuadi-la, torna-se inabalvel:
Essa pureza, essa separao do ser de todas as caractersticas do drama histrico que
ele atravessou, justamente esse o limite, o ex-nihilo em torno do qual Antgona se
mantm. Nada mais do que o corte que a prpria presena da linguagem instaura
na vida do homem. (LACAN, 1959-1960/1988, p.338)
Lacan (1959-1960/1988) apresenta com a tragdia o desejo do Outro em
sua face de desejo fundador de toda a estrutura simblica, e a face de um desejo
da ordem do real, criminoso, sem nenhuma mediao a no ser seu carter radi-
calmente destruidor.
Antgona reivindica no os significantes do desejo do Outro simblico, os
significantes de seu destino, da ordem das leis, mas algo que diz respeito face
real do Outro, relativo Lei da Coisa, desenvolvida fora da cadeia. O significante
que a determina est para alm da linguagem, puro significante isolado da cadeia
que permitiria significaes.
Lacan (1959-1960/1988) nos prope uma topologia do espao trgico, en-
tre-duas-mortes, limitado por duas barreiras, o bem e o belo, e a aproximao e
o atravessamento de cada uma delas indicados pelo temor, culpa ou dio.
Quando se atravessa um limite, do bem ou do belo, o sujeito penetra no
entre-dois do desejo e, se ele retrocede, recua ou renuncia, a traduo subjetiva
dessa renncia a culpa. Por isso, Lacan conclui que a nica coisa da qual se
possa ser culpado, pelo menos na perspectiva analtica, de ter cedido de seu
desejo (LACAN,1959-1960/1988, p.382).
A barreira do bem prpria da conservao da vida, do princpio do prazer,
relativa aos objetos que imaginariamente realizariam o desejo. Esses objetos
surgem para o sujeito em diversas formas: na religio como promessa de um
deus redentor, ou no capitalismo nos objetos de consumo e em todas as
coisas que possam alimentar a idia de um objeto benfico para garantir a
conservao da vida.
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
AS E RTICAS LACAN IANAS E A I N EXISTNC IA DO OUTRO 233
A segunda barreira a do belo. A funo do belo, segundo Lacan (1959-
1960/1988), precisamente a de indicar o lugar da relao do homem com sua
prpria morte, e de faz-lo somente numa fulgurao, num brilho e esplendor.
O belo nessa concepo no tem nenhuma relao com o ideal.
Na primeira parte do Seminrio 7 (1959-1960/1988), o Aristteles da tica a
Nicmaco uma referncia essencial para pensar uma tica do ideal, mas em seu
comentrio sobre Antgona, Lacan vai se referir ao Aristteles da Potica, para
buscar o sentido da ao trgica:
A tragdia a representao () de uma ao nobre levada at seu termo,
e tendo uma certa extenso, por meio de uma linguagem condimentada de espci-
es variadas, utilizadas separadamente segundo as partes da obra. A representao
colocada em ao pelos personagens do drama e no h recurso narrativa; e re-
presentando o temor e a piedade, realiza uma purificao dessas emoes.
(ARISTTELES, p.447).
Num desenvolvimento dessa passagem de Aristteles em Aristote et la tragdie,
Depelsenaire (1988) esclarece que o termo , mimesis, no sentido trgico,
o isolamento de um trao, um signo e no a reproduo de um paradigma
ideal.
A tragdia representao de uma ao e no o recurso narrativa, coloca-
o em ato que produz um efeito de purificao das emoes. O texto de
Depelsenaire particularmente esclarecedor neste aspecto, ao comentar o termo
grego , purificao ou catarse. A originalidade de Aristteles destacar
este termo da tradio do teatro, e trat-lo no no sentido de exorcismo, pois no
se trata de purgao, o que espectador deve realizar uma substituio do temor
e da piedade. A tragdia teria, assim, a funo de suscitar, por meio da represen-
tao, um prazer legtimo que substitui o desprazer.
Para Aristteles, a tragdia no para provocar medo no espectador atravs de
aes suscitando o pavor, a surpresa ou efeitos de horror crescentes. No importa
a experincia patolgica do espectador, nem sua edificao moral, o ponto es-
sencial o prazer que o espectador apreende no espetculo.
Temor e piedade no esto na tragdia para exprimir as emoes ou para
coloc-las em cena, no sentido de imitar, mas emoes que devem ser atravessa-
das, mediadas pela representao, pelo agenciamento dos fatos representados,
pela prpria atividade representativa. A emoo trgica no a emoo bruta ou
sensao imediata, precisamente a emoo purificada.
A imagem de Antgona oferece um prazer decorrente de um apaziguamento
do desejo, cumprindo uma funo de deteno do desejo e um efeito de entusi-
asmo. Ao mesmo tempo, o brilho de Antgona tem a funo de indicar algo
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
234 ANA LUC IA LUTTERBACH HOLC K
irredutvel no desejo que o leva em direo Coisa. Antgona, ao ultrapassar os
limites da lei, presentifica uma exigncia absoluta, um desejo incomparvel, que
visa Outra coisa, para alm do apaziguamento do registro do princpio do prazer,
o gozo da transgresso.
Sob essa perspectiva, Mandil (1993) afirma que a hiptese lacaniana, sobre a
beleza de Antgona, deve ser tomada como um efeito da operao de representa-
o articulada pela tragdia como funo catrtica exercida pelo poder de atrao
e fascnio advindos da prevalncia da imagem da herona sobre todas as imagens.
A imagem de Antgona permite a purificao de tudo aquilo que da ordem do
imaginrio, fazendo desaparecer a proliferao de imagens, o que atingido so
as emoes que poderiam estar associadas a estas imagens: somos purgados [da
srie imaginria] por intermdio de uma imagem entre outras (LACAN, 1959-
1960/1988, p.301).
A ertica trgica estaria ento, por um lado, na transgresso da herona trgica,
no atravessamento das barreiras e o encontro com esse objeto absoluto, das Ding.
Por outro, no atravessamento, por parte do espectador, do temor e da piedade atra-
vs do efeito da purificao produzido pela representao trgica, cujo resultado
o entusiasmo.
Na tragdia podemos, portanto, identificar duas situaes, uma vivida pela
herona e outra pelo espectador. Do lado da herona a passagem ao ato, a trans-
gresso das barreiras do bem e do belo e o encontro com a Coisa como pura
pulso de morte. Do lado do espectador a experincia do atravessamento do
temor e da piedade, uma purificao do imaginrio que permite um
atravessamento sem o encontro com a Coisa, sem identificao e sem passagem
ao ato.
Depreendemos, assim, na ertica trgica a transgresso que diz respeito ao
personagem e aquela que o espectador experimenta. O heri trgico atravessa as
barreiras do bem e do belo visando o encontro com a Coisa, pura pulso de
morte enquanto o expectador, est ex, fora do espetculo, atravessamento mas
sem o encontro com a Coisa e sua experincia de entusiasmo.
ERTICA DO NOTODO
No paradigma do gozo impossvel, como vimos, bordas e limites definem espa-
os diferentes num mesmo plano e o que est em jogo so os desvios, transgres-
ses e ultrapassagens para se alcanar ou evitar o objeto. Com o objeto vazio, no
cerne e na mais radical exterioridade, e o infinito entre-duas-mortes, Lacan traa
o esboo de uma topologia, no entanto, este desenho ainda est mais prximo
de uma cartografia, ele est apenas delineando o que far alguns anos mais tarde
no campo da lgica e da matemtica.
O desejo puro puro porque sem o corpo. O gozo impossvel, atravs da
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
AS E RTICAS LACAN IANAS E A I N EXISTNC IA DO OUTRO 235
sublimao ou transgresso, o gozo sem corpo ou puro encontro com a
morte.
No Seminrio 20: Mais ainda (1972-73/1982), no qual se encontra o paradigma
do gozo da no-relao, Lacan mediu o espao de gozo sexual com o infinito e
demonstrou por que no h a relao sexual, ele ensinou com os conjuntos
como a ex-sistncia faz o Um e como as mulheres no fazem Um, estabelecendo
uma relao ao infinito especfica para cada sexo, cuja topologia define os luga-
res em termos de limite, convergncia e infinito: Neste espao de gozo, tomar
algo limitado, fechado, um lugar, e falar disso uma topologia (LACAN, 1972-
1973/1975, p.17).
Essa questo da relao sexual, se h um ponto de onde isto poderia se
esclarecer, justamente do lado das damas, na medida que da elaborao do
notodo que se trata de romper o caminho. meu verdadeiro tema deste ano, por
trs desse Mais ainda, e um dos sentidos do meu ttulo. Talvez assim eu chegue a
fazer aparecer algo de novo sobre a sexualidade feminina (LACAN,1972-1973/
1975, p.78).
No paradigma do gozo da no-relao, neste seminrio, a expectativa de Lacan
fazer aparecer algo de novo do lado das damas e seu verdadeiro tema a elaborao
do notodo (pas tout), uma estrutura correlativa face real do Outro, do Outro que
no existe. Lacan retoma a sua questo, que no mais freudiana, e elabora o
notodo:
O que quer uma mulher? Freud adianta que s h libido masculina. O que
quer dizer isto? seno que um campo, que nem por isso coisa alguma, se
acha assim ignorado. Esse campo o de seres que assumem o estatuto da mulher
se que esse ser assume o que quer que seja por sua conta. Alm disso,
impropriamente que a chamamos a mulher, pois, a partir do momento em que
ela se enuncia pelo notodo, no pode se escrever. Aqui o artigo a s existe
barrado (1972-73/1982, p.108).
com o notodo que Lacan pretende escrever algo novo sobre a feminilidade. A
lgica masculina a lgica da totalizao que se constitui pela exceo como
termo que a nega integralmente. Ou seja, para se fazer o todo, sejam quais forem
os elementos, necessrio sempre um a mais, que esteja fora. A categoria lacaniana
de ex-sistncia, designa esse elemento que fica fora, indicando que sempre falta-
r um significante para que haja universo de discurso.
A frmula, para todo sujeito funciona a funo flica, ou, todo homem est
submetido castrao, indica que pela funo flica que o homem como todo
se inscreve, exceto que essa funo encontra seu limite na existncia de um pon-
to fora pelo qual a funo negada.
Do lado feminino, o modo de se submeter lei do falo, castrao, no
postulando a universalidade da lei, como notoda a mulher pode se colocar do
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
236 ANA LUC IA LUTTERBACH HOLC K
lado do falo ou no. Na frmula, no h nenhuma mulher que no esteja sub-
metida castrao, no h exceo, nenhuma est fora da castrao, no existe
a figura fundadora de um conjunto de mulheres, logo, no h nem uma que
no esteja submetida castrao.
No existe, portanto, a condio necessria para que se estabelea o universal,
o todo no se constitui, logo, a mulher notoda submetida castrao. As frmu-
las do lado feminino indicam que a mulher no se inscreve da mesma maneira
que o homem, mas ao mesmo tempo, no prescinde da lei do falo. Ela no est
fora, mas tambm, no est inteiramente submetida lei simblica.
A incompletude do ser feminino em Freud tomada em Lacan como in-
consistncia. A inconsistncia designa uma estrutura lgica positiva, o espao
notodo, um conjunto aberto definido pela impossibilidade de circunscrever uma
totalidade.
O falo e a identificao flica designam um regime da libido, simbolizada,
limitada. Na lgica do notodo, o que est em questo no a falta, o notodo no
indica o que descompleta o Outro mas a srie ilimitada que no universalizvel
mas tambm no incompleta nem fluda. O gozo feminino infinito, dito notodo,
designa algo mais frouxo que fludo, um ata e desata, que nunca se deixa amarrar
inteiramente.
A poca de Freud corresponderia ao reino do Nome-do-Pai, cuja estrutura
est esboada em Totem e tabu (FREUD, 1913/1969), a universalizao que se fun-
da com o pai como exceo. A poca lacaniana da psicanlise a poca da
inexistncia do Outro, do notodo generalizado, em que o Nome-do-Pai pulveri-
zado e a subjetividade passa a ser caracterizada pela fuga do sentido, pelo para-
doxo da fuso dos gozos, pela segregao e isolamento. A estrutura que responde
ao Outro que no existe, no se inscreve na universalizao, o notodo generali-
zado, no no sentido do para todos, mas por toda parte, para todos os lados (MILLER,
1996-1997).
Assim, o Outro que no existe pode ser situado em dois nveis: primeiro, no
h universal, no se pode formar o espao fechado do para todo x; em segun-
do lugar, no h a ex-sistncia do Um, o Um inexiste. Essa estrutura do notodo
por toda parte, o que Miller coloca como o fundamento do gozo no individu-
alismo moderno.
Na ertica do notodo, o gozo est sustentado pela essncia do significante,
gozo Um sem o Outro, o gozo ganha corpo. A sublimao no sem o corpo, a
linguagem gozo e perde a utilidade, isto , no visa o sentido. A sublimao
passa a ser o gozo na prpria realizao da escrita. A transgresso a que a
linguagem realiza no corpo, subvertendo seu uso e suas qualidades, criando ilhas
de gozo onde no deveria.
Miller (2002) observa que a clnica clssica respondia essencialmente es-
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
AS E RTICAS LACAN IANAS E A I N EXISTNC IA DO OUTRO 237
trutura da sexuao masculina e se distribua em funo das posies do sujeito
em relao ao Nome-do-Pai. A clnica contempornea funciona na verso do
notodo. Nessa clnica florescem as patologias que no parmetro anterior eram
consideradas no registro pr-edipiano, centradas sobre a relao com a me, ou
sobre o narcisismo, e que se tornaram independentes.
Tudo o que da ordem das adies est na clnica do notodo, quando se coloca
em valor o sem-limite da srie. Observa-se tambm uma menor efetividade da
metfora paterna e a pluralizao dos S1, sua pulverizao, de tal maneira que se
instalou a crise das classificaes, e a prpria categoria de diagnstico deixa de
ser operatria (MILLER, 2000).
Adotamos a exemplar Lol de O arrebatamento de Lol V. Stein (DURAS, 1964), para
pensar a clnica atual na verso do notodo. Este texto de Duras foi exaustivamente
comentado pelos analistas e o termo arrebatamento (ravissement) ganhou quase o
estatuto de conceito depois do artigo de Lacan (1965/2003, p.198) em home-
nagem a Duras.
Encontramos em Lol uma soluo para a falta de um significante da mulher
ou de uma essncia da mulher. Ela est sem o pai, sem o Outro, solta de todo e de
tudo, uma mulher se realizando sozinha.
Um pouco de Lol est presente em Barragem contra o pacfico (DURAS, 1950) e
O amante (DURAS, 1984), ambas com forte contedo autobiogrfico, apesar da
advertncia da autora em crire2 (DURAS, 1993) de que no existe uma histria
de sua vida. Nos trs casos, trata-se de lidar com o feminino como um real
arrebatador, para o qual as barragens so sempre precrias e efmeras. Mas em
Lol V. Stein h uma radicalidade mpar, ali se celebra as taciturnas npcias da
vida vazia com o objeto indescritvel (LACAN, 1965/2003, p.205), sem ne-
nhuma concesso s fices.
O texto de Lol duro, enxuto, as esparsas informaes s fazem uma vida
com muito esforo do leitor. Nada na infncia de Lol chama a ateno do narrador,
ele apenas s sabe que ela nasceu e passou sua juventude em S. Tahla. Seu pai era
professor universitrio e seu irmo nove anos mais novo, provavelmente vivia
em Paris. Tem uma amiga de infncia, Tatiana, presente no baile que se repete em
todo Ravissement, e que ter um papel essencial em sua fantasia.
S. Tahla no est no mapa, Duras em entrevistas a situa tanto na Inglaterra
quanto nas praias do Atlntico. Em Lieux, ela diz que S. Tahla e T. Beach relvent dune
mer du Nord, la mer de mon enfance aussi, des mers... ilimites (BORGOMANO, 1997). De-
clara, tambm em entrevista, que mais tarde descobriu a relao que parece evi-
dente entre S. Tahla e Thalassa (mar, em grego).
2La histoire de ma vie nexiste pas. a nexiste pas. Il ny a jamais de centre. Pas de chemin, pas de ligne (DURAS,
1993, p.14).
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
238 ANA LUC IA LUTTERBACH HOLC K
Doce mas indiferente, Lol nunca parecia sofrer, afligir-se ou derramar uma
lgrima. Quando algum no colgio tentava apreend-la, ela escorria por entre
os dedos das mos como gua (DURAS, 1964, p.24). Em um instante estava
longe de todos, imersa no em sonhos adolescentes mas, segundo sua amiga
Tatiana, no nada. Conheceu nas frias escolares, aos 19 anos, Michael Richardson,
o noivo que ser raptado no baile.
A histria de Lol no ser contada com esses dados, a partir da noite do
baile que o narrador, Jacques Hold, que no estava l, inventa uma vida com as
informaes esparsas que recebe de Tatiana e dos rumores que ouve aqui e ali. Ele
diz que vai em seu encalo para tentar apreend-la, no momento em que a mu-
lher de preto atravessa a porta da sala do baile do Casino de T. Beach. Lol no
tinha existncia antes do baile mas depois ela se torna um deserto, no qual uma
faculdade nmade a havia lanado na busca interminvel de qu? No se sabia.
Ela no respondia (DURAS, 1964, p.24).
H, na cena do baile, um duplo arrebatamento: o rapto dele e o aniquilamento
dela. Ele raptado por uma mulher feita, vestida de preto e decotada, cheia de
mistrio, brilho e seduo que chega de repente. Eles danam e se colam arrebata-
dos. A jovem, se solta do noivo, desfeita e aniquilada, cai no arrebatamento. Lacan
resume a cena: A cena o arrebatamento de dois numa dana que os solda, sob o
olhar de uma terceira, com todo o baile, sofrendo a o rapto de seu noivo por
aquela que s precisou aparecer subitamente (LACAN, 1965/2003, p.199).
O brilho do vestido preto, que veste e reveste uma, deixa a outra despida do
envoltrio que a fazia ser e quando desinvestida mostra o brilho da nudez: O
vestido suporte, tecido, mas o corpo que o porta aspira o sujeito e troca seu
estatuto (LAURENT, 2000, p.19).
O arrebatamento. Arrebatar tem muitos sentidos e todos eles esto presentes
na cena: arrancar, raptar, encantar, extasiar, enfurecer, conquistar. Arrebatamento
pode ser o efeito da presena daquela que faz A Mulher, para os olhos de outra
que acredita que apenas ela no ou no tem. Arrebatamento tambm quando
a notoda perde seus enlaces e sem norte perde o sentido. Arrebatamento quan-
do a mulher perde o amor de um homem e este era o nico n que a enlaava.
Viver no relatvel, mas na escrita de cada poca, o tratamento dado ao
impossvel diferente. O romance tradicional d existncia ao Outro, criando
um universo de sentido mesmo para a infelicidade. Na escrita contempornea,
parece que a prevalncia do real sobre o simblico na amarrao entre os regis-
tros deixa mais exposto o no relatvel do viver. Em O arrebatamento de Lol V. Stein, o
Outro no existe, no h universo nem sentido, Lol est solta no in-mundo.
Passado o baile, depois de algumas semanas, Lol parece voltar a fazer outros
laos, casa-se, tem filhos e uma rotina estvel, uma vida comum. No entanto, so
apenas gestos, sua alma estava irrevogavelmente perdida e a cena do baile se repete
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
AS E RTICAS LACAN IANAS E A I N EXISTNC IA DO OUTRO 239
ainda e sempre sem sentido. novamente de sua amiga, essa pequena outra, ao lado
de seu amante que ela se serve mais uma vez, agora para se revestir com a fantasia.
Depois de perambular por anos, encontra a cena por meio da qual, configu-
rando a ertica do notodo, ela se realiza sozinha. Com a arrebatadora Anne Stratter,
A mulher, a Outra realizada, ela fica aniquilada e, com Tatiana, a outra, ela
recompe sua fantasia, se realiza. Fora da cena, deitada num campo de centeio
ela olha, emoldurados pela janela, Tatiana nua com seu amante envolta apenas
nos cabelos que por serem pretos tornam-se propcios para dar roupagem fan-
tasia de Lol. Ela no est dentro da janela, ela est fora e a vida passa e se realiza na
fantasia emoldurada pela janela. Lol realizada porque se torna a mancha no
espetculo. Ela no o voyeur, ela a mancha (LAURENT, 2000, p.21).
A puno <> entre o sujeito (S) e o objeto a, na frmula da fantasia (S<>a),
indica a funo de uma borda que circunscreve um vazio, a moldura da fantasia
que limita e ordena a realidade, uma realidade preponderantemente visual. A
moldura da realidade o que a constitui como tal, o que na realidade, sendo
visual, no se v, um limite que opera mediante subtrao do objeto a e que
organiza o campo do que vemos.
A fantasia vela a subtrao do objeto a, o que por estrutura no pode ser visto
e, por outro lado, tela, superfcie que suporta o que se projeta sobre ela, sem a
qual o desejo vivido como o abismo da angstia. A funo da dinmica da
fantasia deixar desejar e de forma despercebida determina o sujeito. Lol no se
realiza com a fantasia, nem a realiza, s, ela realizada pela fantasia. Para cons-
tru-la, busca em ato e cuidadosamente cada um dos personagens e a moldura
para enquadrar a cena que reinveste seu desejo.
Ela no encontra classificao nas estruturas tradicionais, ela exemplar da
clnica atual porque nela a funo da fantasia no passa despercebida, no funci-
ona em sua dinmica mas como esttica. Petrificada, a fantasia cena em ato que,
precariamente, a sustenta. Lol faz do amor (Lol V) pedra (stein) e dela prpria
mancha (stain) no espetculo.
Recebido em 16/11/2005. Aprovado em 16/8/2006.
REFERNCIAS
ARISTTELES (sc. IV a.C./1973) Potica, in Os pensadores. So Paulo:
Abril Cultural, v.IV.
BADIOU, A. (2005) Le Sicle. Paris: Seuil.
BORGOMANO, M. (1997) Le Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras. Paris:
Gallimard.
DEPELSENAIRE,Y. (1988) Aristote et la tragdie. Quarto: Bulletin de LEcole
da la Cause Freudienne, n. 30. Bruxelas, p.14-20.
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
240 ANA LUC IA LUTTERBACH HOLC K
DURAS, M. (1950) Un barrage contre le pacifique. Paris: Gallimard.
. (1964) Le ravissement de Lol V. Stein. Paris: Gallimard.
. (1984) LAmant. Paris: De Minuit.
. (1993) crire. Paris: Gallimard.
FOUCAULT, M. (1984) O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal.
FREUD, S. Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas. Rio de Janeiro:
Imago.
(1905/1972) Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade, v.VII, p.
119-217.
(1913/1969) Totem e tabu, v.XIII, p. 21-192.
JULIEN, P. (1996) O estranho gozo do prximo. tica e psicanlise. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor.
LACAN, J. (1959-60/1988) O Seminrio Livro 7, A tica da psicanlise. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor.
. (1965/2003) Homenagem a Marguerite Duras pelo Arrebata-
mento de Lol V. Stein, in Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor.
. (1972-73/1982) O Seminrio Livro 20, Mais, ainda. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor.
. (1973/2003) Televiso, in Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor.
LAURENT, E. (1999-2000) Aula de 24/05/2000 apud MILLER, J-A. Les Us
du Laps. (Lio de Curso indito)
. (2000) Un sophisme de Lamour courtois. Revue da Psychanalyse de
la Cause Freudienne, n. 46. Paris.
MANDIL, R. (1993) Entre tica e esttica freudianas: a funo do belo e
do sublime na tica da psicanlise de Lacan. Dissertao de Mestrado,
Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Cincias Huma-
nas, UFMG.
MILLER, J-A. (1991-1992) De la nature des semblants. (Curso indito)
. (1995-1996) La Fuite de sen. (Curso indito)
. (1996-1997) LAutre nexiste pas et ses comits dthique. (Curso in-
dito).
. (1998-1999/2003) La experiencia de lo real en la cura psicanaltica.
Buenos Aires: Paids.
. (1999-2000) Les Us du Laps. (Curso indito)
. (2001) Documents prparatoires du Journe du ravissement. Paris: Institut
du Champ Freudien.
. (2002) Intuitions milanaises. Mental, n.11. Paris, p. 9-26.
Ana Lucia Lutterbach Holck
bacholck@infolink.com.br
gora (Rio de Janeiro) v. IX n. 2 jul/dez 2006 225-240
Você também pode gostar
- Biddulph, Steve. Criando Meninos (LIDO) PDFDocumento171 páginasBiddulph, Steve. Criando Meninos (LIDO) PDFSomaia Montagner100% (1)
- A Fala Escrita Mulher Que Nao Existe PDFDocumento12 páginasA Fala Escrita Mulher Que Nao Existe PDFAlexandre PsiAinda não há avaliações
- Metafísica Do Amor SexualDocumento18 páginasMetafísica Do Amor SexualAdalberto Oliveira100% (1)
- O Negro Na Fotografia Brasileira Do Século XIX - George ErmakoffDocumento159 páginasO Negro Na Fotografia Brasileira Do Século XIX - George ErmakoffCardes PimentelAinda não há avaliações
- Preto e Branco Ou Colorido - o Negro e o Cinema Brasileiro - Orlando SennaDocumento16 páginasPreto e Branco Ou Colorido - o Negro e o Cinema Brasileiro - Orlando SennaCardes Pimentel100% (1)
- 1 Evolução e MorfologiaDocumento23 páginas1 Evolução e MorfologiaCarlos Eduardo Do Prado100% (1)
- Capítulo 81 - Fisiologia Feminina Antes Da Gravidez e Hormônios Femininos - 4 PáginasDocumento4 páginasCapítulo 81 - Fisiologia Feminina Antes Da Gravidez e Hormônios Femininos - 4 PáginasandreamokadaAinda não há avaliações
- ZalcbergDocumento8 páginasZalcbergRaoni100% (1)
- A Psicanálise e o Dispositivo Da Diferença SexualDocumento18 páginasA Psicanálise e o Dispositivo Da Diferença SexualLuisa Dall'agnolAinda não há avaliações
- A Erótica e o FemininoDocumento186 páginasA Erótica e o FemininoMatheus HenriqueAinda não há avaliações
- Edinaldo Dos Santos Araújo - ANTEPROJETO DE TESEDocumento23 páginasEdinaldo Dos Santos Araújo - ANTEPROJETO DE TESEEdinaldo AraújoAinda não há avaliações
- Homossexualidade Na PsicanaliseDocumento7 páginasHomossexualidade Na PsicanaliseLeandro RibeiroAinda não há avaliações
- Narcisismo Feminino Uma Via de Acesso À Erotomania FemininaDocumento16 páginasNarcisismo Feminino Uma Via de Acesso À Erotomania FemininaMichelle Holtz LançaAinda não há avaliações
- Resenha - A Sexualidade Na Aurora Do Sec XXIDocumento3 páginasResenha - A Sexualidade Na Aurora Do Sec XXIIreneAinda não há avaliações
- 04 PDFDocumento8 páginas04 PDFRaniel Gomes AlexandreAinda não há avaliações
- A Clínica Das Mulheres Erotomania e DevastaçãoDocumento10 páginasA Clínica Das Mulheres Erotomania e DevastaçãoRafael LimaAinda não há avaliações
- Admin, 06Documento13 páginasAdmin, 06Difran MeloAinda não há avaliações
- CEVASCO, Rithee. Ser para o Sexo e A Partilha Dos SexosDocumento20 páginasCEVASCO, Rithee. Ser para o Sexo e A Partilha Dos SexosNathaschka MartiniukAinda não há avaliações
- 10 TP40.2 - Cynthia de Paoli DdddsDocumento4 páginas10 TP40.2 - Cynthia de Paoli DdddsEsteban Torres RojasAinda não há avaliações
- Outono 07 ConfDocumento12 páginasOutono 07 ConfRenan ZucatoAinda não há avaliações
- André Luís ScapinDocumento111 páginasAndré Luís ScapinAdil_sonAinda não há avaliações
- Psicanalise e GeneroDocumento17 páginasPsicanalise e GeneroMiguel RodriguesAinda não há avaliações
- A Mulher Os Rapazes, Da História Da SexualidadeDocumento3 páginasA Mulher Os Rapazes, Da História Da Sexualidadeelias silva100% (1)
- Transexualismo e Travestismo A Partir Da Perspectiva Da PsicanáliseDocumento16 páginasTransexualismo e Travestismo A Partir Da Perspectiva Da PsicanáliseClarice TulioAinda não há avaliações
- Psicanálise e FeminilidadeDocumento8 páginasPsicanálise e FeminilidadeRenato Vieira FilhoAinda não há avaliações
- Narcisismo PDFDocumento14 páginasNarcisismo PDFcachorro996100% (1)
- A HISTÉRICA E A OUTRA HOMOSSEXUALISMO Artigo. Mariano, 2008Documento8 páginasA HISTÉRICA E A OUTRA HOMOSSEXUALISMO Artigo. Mariano, 2008marikosvaAinda não há avaliações
- Ebook A Psicologia Clinica Nas Interfaces Com O So 240304 195054 80 86Documento7 páginasEbook A Psicologia Clinica Nas Interfaces Com O So 240304 195054 80 86matheusspeedy10Ainda não há avaliações
- A Construção de Uma Teoria de MasculinidadeDocumento18 páginasA Construção de Uma Teoria de MasculinidadeDaniel JoiaAinda não há avaliações
- A Teoria Do Amor Na PsicabáliseDocumento8 páginasA Teoria Do Amor Na PsicabáliseKelly SoaresAinda não há avaliações
- A Anatomia e Seus DestinoDocumento6 páginasA Anatomia e Seus Destinochristianeomat5742Ainda não há avaliações
- A Anatomia e Seus Destinos PDFDocumento6 páginasA Anatomia e Seus Destinos PDFluAinda não há avaliações
- O Uso Dos Prazeres - FoucaultDocumento11 páginasO Uso Dos Prazeres - FoucaultSirlene M. P. SilaAinda não há avaliações
- Parcerias Amorosas Sintomáticas: Teoria PsicanalíticaDocumento8 páginasParcerias Amorosas Sintomáticas: Teoria PsicanalíticaLaíla Albuquerque LemosAinda não há avaliações
- Introdução A Psicanálise 06-Desenvolvimento PsicosexualDocumento16 páginasIntrodução A Psicanálise 06-Desenvolvimento PsicosexualAwo Awopeju OlagbajuAinda não há avaliações
- A Diferença Dos Sexos Lacan e o FeminismoDocumento10 páginasA Diferença Dos Sexos Lacan e o FeminismoAmeliaAinda não há avaliações
- Ondina Machado A Clinica Do Sinthoma e o Sujeito Contemporaneo AsephlusDocumento7 páginasOndina Machado A Clinica Do Sinthoma e o Sujeito Contemporaneo AsephlusAdil_sonAinda não há avaliações
- Artigo Sobre A Feminilidade em PsicanáliseDocumento8 páginasArtigo Sobre A Feminilidade em PsicanáliseTarcila de Castro - SushmaAinda não há avaliações
- Devastacao Um Nome para Dor de AmorDocumento6 páginasDevastacao Um Nome para Dor de AmorLuiz Felipe MonteiroAinda não há avaliações
- Instituto Superior de Psicologia AplicadaDocumento138 páginasInstituto Superior de Psicologia AplicadaAna CarneiroAinda não há avaliações
- Mirtes Ingred Tavares MARINHODocumento7 páginasMirtes Ingred Tavares MARINHOJanyne FigueiredoAinda não há avaliações
- Jung e SexualidadeDocumento5 páginasJung e SexualidadeLjacintho100% (1)
- A Psicanálise e As Novas Formas de Subjetivação e de SexualidadeDocumento10 páginasA Psicanálise e As Novas Formas de Subjetivação e de SexualidadeWagner VinhasAinda não há avaliações
- Conjugalidades Contemporâneas - A Perspectiva de Otto KernbergDocumento12 páginasConjugalidades Contemporâneas - A Perspectiva de Otto KernbergHannah HolandaAinda não há avaliações
- FREUD E A TEORIA DA SEXUALIDADE - Instituto Inclusão BrasilDocumento3 páginasFREUD E A TEORIA DA SEXUALIDADE - Instituto Inclusão BrasilDanilo de Freitas CorreiaAinda não há avaliações
- Uma Breve Revisão Da Noção de PerversãoDocumento15 páginasUma Breve Revisão Da Noção de PerversãoRhanielle RodriguesAinda não há avaliações
- Perversão Incompleto1.2Documento10 páginasPerversão Incompleto1.2FláviaLacerdaAinda não há avaliações
- A Não Relação Sexual Lacaniana em Face Do Debate Entre GêneroDocumento11 páginasA Não Relação Sexual Lacaniana em Face Do Debate Entre GêneroTaise NicolayAinda não há avaliações
- Roteiro de Thomas LaqueurDocumento2 páginasRoteiro de Thomas LaqueurRafa PinheiroAinda não há avaliações
- Entre Desejo e Gozo A Ética Da PsicanáliseDocumento10 páginasEntre Desejo e Gozo A Ética Da PsicanáliseNadja VossAinda não há avaliações
- A Queda Do FalocentrismoDocumento4 páginasA Queda Do FalocentrismoHugo LeonardoAinda não há avaliações
- 11 A-Sexualidade Edilene-Lima v25 n3 2018Documento15 páginas11 A-Sexualidade Edilene-Lima v25 n3 2018Ingrid MenezesAinda não há avaliações
- 2 Resenha - A Sexualidade Na Aurora Do Sec XXIDocumento6 páginas2 Resenha - A Sexualidade Na Aurora Do Sec XXIIreneAinda não há avaliações
- Esboço de PsicanáliseDocumento5 páginasEsboço de PsicanáliseRômulo CruzAinda não há avaliações
- A Quarta Externalidade Na Clínica ContemporâneaDocumento4 páginasA Quarta Externalidade Na Clínica ContemporâneaSilvane CarozziAinda não há avaliações
- Resumo Dois VerbetesDocumento4 páginasResumo Dois VerbetesamandaAinda não há avaliações
- Lacan e FoucaultDocumento18 páginasLacan e FoucaultarquipelagoAinda não há avaliações
- Ayouch, T. 2014. A Diferença Entre Os Sexos Na Teorização Psicanalítica - AporiasDocumento15 páginasAyouch, T. 2014. A Diferença Entre Os Sexos Na Teorização Psicanalítica - AporiaspsicfernandobassoAinda não há avaliações
- Loyola - A Sexualidade Nas Ciências Humanas (INCOMPLETO)Documento3 páginasLoyola - A Sexualidade Nas Ciências Humanas (INCOMPLETO)Bela LugosiAinda não há avaliações
- Revista SPPA v25 n3 3Documento34 páginasRevista SPPA v25 n3 3vasco0014joaoAinda não há avaliações
- Teoria Do Amor Sexual - J. BarbosaDocumento12 páginasTeoria Do Amor Sexual - J. BarbosaviolaoliveiraAinda não há avaliações
- Outras Palavras016Documento15 páginasOutras Palavras016Hugo LeonardoAinda não há avaliações
- NARCISISMODocumento9 páginasNARCISISMOJoão Muniz JuniorAinda não há avaliações
- Sobre o Gide de Lacan PDFDocumento35 páginasSobre o Gide de Lacan PDFCardes PimentelAinda não há avaliações
- Cottet Serge - Freud e o Desejo Do PsicanalistaDocumento6 páginasCottet Serge - Freud e o Desejo Do PsicanalistaCardes PimentelAinda não há avaliações
- Revista LatinidadeDocumento368 páginasRevista LatinidadeCardes Pimentel100% (1)
- Adolescência - Tempo de Maturação Cristina DrumondDocumento1 páginaAdolescência - Tempo de Maturação Cristina DrumondCardes PimentelAinda não há avaliações
- Preto e Branco Ou Colorido - o Negro e o Cinema Brasileiro - Orlando SennaDocumento16 páginasPreto e Branco Ou Colorido - o Negro e o Cinema Brasileiro - Orlando SennaCardes Pimentel0% (1)
- Kbela e Cinzas o Cinema Negro No FeminiDocumento16 páginasKbela e Cinzas o Cinema Negro No FeminiCardes PimentelAinda não há avaliações
- NÓS POR NÓS MESMOS Identidade Afro-Brasileira e Representação Das Relações Raciais Na Produção Audiovisual ContemporâneaDocumento239 páginasNÓS POR NÓS MESMOS Identidade Afro-Brasileira e Representação Das Relações Raciais Na Produção Audiovisual ContemporâneaCardes PimentelAinda não há avaliações
- Preto e Branco Ou Colorido - o Negro e o Cinema Brasileiro - Orlando SennaDocumento16 páginasPreto e Branco Ou Colorido - o Negro e o Cinema Brasileiro - Orlando SennaCardes Pimentel0% (1)
- Duas Referências - LacadéeDocumento9 páginasDuas Referências - LacadéeCardes PimentelAinda não há avaliações
- Esse Sujeito Adolescente - Sonia Alberti PDFDocumento278 páginasEsse Sujeito Adolescente - Sonia Alberti PDFCardes PimentelAinda não há avaliações
- Ficha MOCDocumento4 páginasFicha MOCMarta De Almeida SilvaAinda não há avaliações
- Cosmetologia Disfunções B1Documento4 páginasCosmetologia Disfunções B1Alana Kelly Costa De AlmeidaAinda não há avaliações
- Perguntas para o QUIZDocumento2 páginasPerguntas para o QUIZCrislaine RamosAinda não há avaliações
- Fisiologia Do Exercício Físico e Hipertensão Arterial: Uma Breve IntroduçãoDocumento7 páginasFisiologia Do Exercício Físico e Hipertensão Arterial: Uma Breve IntroduçãoLaila SiqueiraAinda não há avaliações
- Fisiológica VegetalDocumento44 páginasFisiológica VegetalÂngelo MachadoAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre o Núcleo Das CélulasDocumento3 páginasExercícios Sobre o Núcleo Das CélulasPériclesNunesAinda não há avaliações
- Árvores FrutíferasDocumento3 páginasÁrvores FrutíferasPastor Márcio AndréAinda não há avaliações
- Revisão 1º Ano Pré HistóriaDocumento4 páginasRevisão 1º Ano Pré HistóriaAne 7w7Ainda não há avaliações
- Bula Herbicida DontorDocumento6 páginasBula Herbicida DontormarcusdelbelAinda não há avaliações
- ParasitasDocumento4 páginasParasitasMariana Maran MeiraAinda não há avaliações
- Os Principais Produtores de AzeiteDocumento19 páginasOs Principais Produtores de AzeiteRafaelMarquesAinda não há avaliações
- Milho TransgênicoDocumento5 páginasMilho TransgênicoFlaviaMASAinda não há avaliações
- Agropecuaria 10 Classe 1o TR 2023Documento4 páginasAgropecuaria 10 Classe 1o TR 2023Age Ovilela Por Bem100% (1)
- Biotecnologia Aplicada À Saúde Vol. 1 - WWW - Meulivro.bizDocumento625 páginasBiotecnologia Aplicada À Saúde Vol. 1 - WWW - Meulivro.bizMila milaAinda não há avaliações
- Islane Vitoria Santos - Atividade 02 - Transcrição e TraduçãoDocumento2 páginasIslane Vitoria Santos - Atividade 02 - Transcrição e TraduçãoIslane SantosAinda não há avaliações
- Calor: Influencia Da Temperatura Na Saúde Do TrabalhadorDocumento10 páginasCalor: Influencia Da Temperatura Na Saúde Do TrabalhadorValéria Araújo CavalcanteAinda não há avaliações
- Slides - Fisiologia NeuromuscularDocumento35 páginasSlides - Fisiologia NeuromuscularVitória EmanuellyAinda não há avaliações
- Prova 1 2020Documento20 páginasProva 1 2020AlexAinda não há avaliações
- Química - Manual1Documento136 páginasQuímica - Manual1marko.fermaAinda não há avaliações
- Avaliação de Ciencias Do 7º Ano 4º Bimestre BBBBBBB de 2017Documento3 páginasAvaliação de Ciencias Do 7º Ano 4º Bimestre BBBBBBB de 2017Ines AndradeAinda não há avaliações
- Higienizacao de Utensilios e Quipamentos e Area FisicaDocumento4 páginasHigienizacao de Utensilios e Quipamentos e Area FisicaKelyane PortelaAinda não há avaliações
- Far Maco TecnicaDocumento16 páginasFar Maco TecnicaJulio BrondinoAinda não há avaliações
- Nep 1.01.Pdf - Dadores Sangue e Medula ÓsseaDocumento4 páginasNep 1.01.Pdf - Dadores Sangue e Medula ÓsseaMaraLeiteAinda não há avaliações
- Programa Operacional Pesca 2007-2013 (Madrp-Dgpa - 2007)Documento107 páginasPrograma Operacional Pesca 2007-2013 (Madrp-Dgpa - 2007)Rui M. C. PimentaAinda não há avaliações
- Tumor e Síndrome CarcinóideDocumento49 páginasTumor e Síndrome CarcinóideSandro RolimAinda não há avaliações
- A Versatilidade Do Sal Na PisciculturaDocumento7 páginasA Versatilidade Do Sal Na PisciculturaMilhoVerde50% (2)
- Analisando o Filme Sempre AmigosDocumento2 páginasAnalisando o Filme Sempre Amigosmrosadivino100% (15)