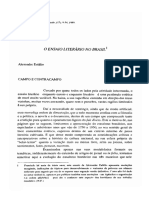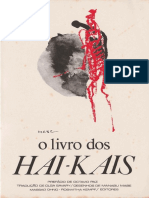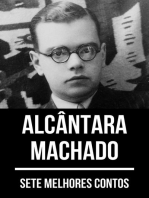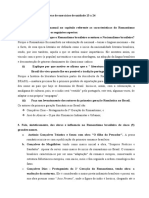Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FRANCHETTI Paulo O Haicai No Brasil PDF
FRANCHETTI Paulo O Haicai No Brasil PDF
Enviado por
Gui DamasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FRANCHETTI Paulo O Haicai No Brasil PDF
FRANCHETTI Paulo O Haicai No Brasil PDF
Enviado por
Gui DamasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O haicai no Brasil
Paulo Franchetti
Em 1925, Oswald de Andrade publicava o livro que, junta-
mente com Paulicia desvairada, de Mrio de Andrade, constitui-
ria um marco da nova poesia brasileira. Intitulado Pau Brasil, foi
ilustrado por Tarsila do Amaral e prefaciado por Paulo Prado, am-
bos nomes emblemticos do Modernismo de 22.
No prefcio, Prado apresentava o livro como um momento
de virada na poesia brasileira, no qual estaria sendo varrido o pe-
so livresco das idias de importao que a paralisara h mais de
um sculo.
Afirmando que o lirismo ingnuo e direto de Oswald cons-
titua a continuidade da obra de Casimiro de Abreu e Catulo da
Paixo Cearense, registrava que ele era tambm o primeiro esfor-
o organizado para a libertao do verso brasileiro e para a fixa-
o da nova lngua brasileira, que seria constituda basicamente
pela reabilitao do nosso falar quotidiano.
nesse contexto de exposio de um programa radical de atua-
lizao nacionalista da literatura brasileira que vem o trecho que
interessa comentar:
Esperemos tambm que a poesia paubrasil extermine de vez um
dos grandes males da raa o mal da eloqncia balofa e roagan-
te. Nesta poca apressada de rpidas realizaes a tendncia to-
da para a expresso rude e nua da sensao e do sentimento, numa
sinceridade total e sinttica.
Le pote japonais
Essuie son couteau:
Cette fois lloquence est morte.
diz a haka japons, na sua conciso lapidar. Grande dia esse pa-
*
(PRADO, Paulo. Poesia
Pau Brasil. In: ANDRADE,
ra as letras brasileiras. Obter, em comprimidos, minutos de poesia.*
Oswald de. Pau Brasil. Pa- O haicai japons aparece, ento, como ideal de coloquialidade,
ris: Sans Pareil, 1925 repr.
fac-similar EDUSP/Imprensa de registro direto da sensao e do sentimento e como forma ade-
Oficial, 2004: 10.)
quada ao tempo rpido do presente. E tambm como modelo lite-
rrio no-europeu para o projeto nacionalista brasileiro, que visava,
nas suas palavras, romper os laos que nos amarram desde o nasci-
mento velha Europa, decadente e esgotada.
256 ALEA VOLUME 10 NMERO 2 JULHO-DEZEMBRO 2008 p. 256-269
Sabemos hoje que o annimo haicai japons erguido como
bandeira modernista nem era haicai, nem era japons. No entan-
to, foi lido como tal por mais de 60 anos.1 A histria do nome e da
imagem do haicai que permitiu a Paulo Prado inserir esse terceto no
prefcio ao livro de Oswald tambm a histria do primeiro mo-
mento de assimilao do haicai japons literatura brasileira. Para
retra-la, teremos de voltar no tempo, de modo a compreender al-
guns dos principais traos da representao da poesia japonesa no
Ocidente e, com especial ateno, no Brasil.
As primeiras apresentaes da literatura japonesa no Ocidente
apareceram em livros de viagem. Com a expanso do colonialismo
europeu, a paixo por esse tipo de literatura chegou ao apogeu no
ltimo quartel do sculo XIX. Entre os vrios testemunhos do su-
cesso do gnero, vale lembrar um texto de Ea de Queirs de 1881,
no qual o romancista registrava, pasmado, a enorme quantidade de
livros do gnero publicados em Londres, anotando:
antigamente contava-se a viagem quando casualmente se tinha via-
jado [...]. Hoje no. Hoje empreende-se a viagem unicamente pa-
ra se escrever o livro.
E completava:
quem hoje encontrar em algum intrincado ponto do Globo um su-
jeito de capacete de cortia, lpis na mo, binculo a tiracolo, no
pense que um explorador, um missionrio, um sbio coligindo flo-
(QUEIRS, Ea de. Acer-
ras raras um prosador ingls preparando o seu volume.*
*
ca de livros. Gazeta de No-
tcias, Rio de Janeiro, 17
Ora, o Japo, que tinha ficado por duzentos anos fechado aos e 18/11/1881. In: QUEI-
RS, Ea de. Literatura e
olhares do Ocidente, forneceu, desde a sua abertura ao Ocidente, arte Uma antologia. BER-
na segunda metade do sculo XIX, um generoso campo de registro RINI, Beatriz (org.). Lisboa:
Relgio dgua Editores,
de singularidades e construo de idealizaes vrias. 2000: 151.)
A tica rigorosa que sustentava o servio dos samurais, a eti-
queta minuciosa da nobreza feudal, o refinado senso de decorao
e o gosto pela vida em contato com a natureza fascinaram os via-
jantes. Bem como os costumes bizarros: o banho coletivo, os pra-
tos e copos minsculos, os grilos presos em gaiolas, a maquiagem
e comportamento das gueixas, os hbitos alimentares.
1
Para uma anlise mais demorada desse texto e da sua histria, ver o artigo Um
certo poeta japons (FRANCHETTI, Paulo. Estudos de Literatura Brasileira e
Portuguesa. Cotia: Ateli, 2007.)
Paulo FRANCHETTI | O haicai no Brasil 257
Para os que, por meio da viagem, celebravam a superioridade
da civilizao do Ocidente, o Japo era apenas mais um armazm
repleto de pitoresco. Para os que se moviam aos confins do mundo
em busca de um modelo alternativo ou antagnico aos rumos da so-
ciedade burguesa ocidental, o Japo aparecia como uma espcie de
paraso perdido pr-industrial, milagrosamente protegido do contato
com os poderes destrutivos do dinheiro e da tcnica ocidentais.
O haicai e outras artes japonesas, assim, ou vinham valori-
zadas pelo contraste com a decadncia do gosto e da qualidade da
vida na sociedade industrial, ou relegadas ao nvel da curiosidade
local, num registro de ridicularizao.
Em lngua portuguesa, at as primeiras dcadas do sculo
XX so poucas as excees a essa ltima forma de perceber a poe-
sia japonesa. Na verdade, ela parece reduzir-se figura solitria de
Wenceslau de Moraes (1854-1929), que no volume Relance da al-
ma japonesa (1926) fez uma apresentao do haicai que fugiu por
completo ao registro do exotismo pitoresco.
No Brasil, at mesmo um observador sensvel e simptico ao
Japo, como foi o historiador Oliveira Lima, escrevia, em 1903,
sobre a falta de originalidade da literatura do pas:
As naga-uta do sculo XX [...] celebram com emoo idntica das tan-
ca do sculo VIII e s vezes com idnticos conceitos, porque dizem no
ser o plagiato natural numa raa sem grande inventiva pecado no
(LIMA, Oliveira. No Japo:
Japo, a glria perfumada da ameixoeira e a modstia da Lespedeza.*
*
impresses da terra e da gen-
te. 3. ed. Rio de Janeiro: To-
pbooks, 1997: 181) Ao que acrescentava, quanto s formas poticas:
A insignificncia dessa florzinha, de que os japoneses fazem tanto ca-
so, melhor coaduna-se alis com a irm mais nova da tanca, a hai-
cai, poesia de trs versos ou frases de 5, 7 e 5 slabas, respectivamen-
te, que no sculo XVII veio em auxlio do curto estro dos japoneses,
oferecendo-lhe uma forma mais acessvel ainda, mais simples e mais
popular de condensar uma idia ou antes uma sensao num molde
(Ibidem: 182.)
por vezes difcil e obscuro como uma charada.*
*
A primeira meno positiva ao haicai no Brasil deve-se a Afr-
nio Peixoto. Num volume de 1919, intitulado Trovas populares bra-
sileiras, assimilando a forma japonesa trova popular, Peixoto apre-
sentava o haicai como um epigrama lrico, reconhecendo nele no
*
(GOGA, H. Masuda. O
Haicai no Brasil. So Paulo:
a bizarrice da forma, mas um encanto intraduzvel.*
Editora Oriento, 1988: 22.) Peixoto conheceu o haicai por intermdio de um livro de Paul-
Louis Couchoud (1879-1959), escritor hoje esquecido, mas nome-
chave no orientalismo do comeo do sculo XX.
258 ALEA VOLUME 10 NMERO 2 JULHO-DEZEMBRO 2008
Couchoud esteve no Japo de setembro de 1903 a maio de
1904 e tomou contato com a literatura japonesa por meio dos tra-
balhos de europeus ali radicados, especialmente Basil Chamberlain
(1850-1935).
Em decorrncia dessas viagens e leituras, em 1905 Couchoud
produziu com dois amigos seu primeiro conjunto de poemas ins-
pirados no haicai: 72 tercetos sem mtrica nem rima, que busca-
vam antes reproduzir o esprito do que a forma desse tipo de poe-
sia japonesa.
Em 1906, apoiado numa monografia de Chamberlain de 1902,
intitulada Basho and the Japanese Poetical Epigram,2 Couchoud pu-
blicou na revista Les Lettres dois estudos: Les haka e Les pigra
mmes lyriques du Japon, ilustrado com cerca de uma centena de
haicais traduzidos, ao que tudo indica, na maior parte do ingls.3
Sobre o haicai, escrevia Couchoud esta bela definio, na qual
ressalta a sua singularidade:
uma poesia japonesa em trs versos, ou antes em trs pequenas par-
tes de frase, a primeira de cinco slabas, a segunda de sete, a terceira
de cinco: dezessete slabas ao todo. o mais elementar dos gneros
poticos. [...] Um haicai no comparvel nem a um dstico grego
ou latino, nem a um quarteto francs. No tampouco um pen-
samento, nem um dito espirituoso, nem um provrbio, nem um
epigrama no sentido moderno, nem um epigrama no sentido anti-
go, isto uma inscrio, mas um simples quadro em trs pincela-
das, uma vinheta, um esboo, s vezes um simples registro (touche),
uma impresso.* *
(COUCHOUD, Paul-Louis.
Le haka Les pigrammes
lyriques du Japon. Paris: La
Republicado no volume Sages et potes dAsie (1916), esse tex- Table Ronde, 2003: 25.)
to correu o mundo, precedido de um prefcio de Anatole France,
tornando-se uma das principais referncias sobre ao assunto, para
os leitores de formao francesa.
No Brasil, o livro de Couchoud foi, durante bom tempo, a
fonte principal do conhecimento sobre o haicai. nele que se baseia
no s o texto de Afrnio Peixoto, mas ainda o de Osrio Dutra,
poeta de certa expresso no seu tempo, que afirmava, entretanto,
numa crnica datada de 20 de novembro de 1920, no s que a arte
2
Publicado em Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. XXX, parte II,
1902.
3
As fontes referidas por Couchoud so Chamberlain e Cl.-E. Matre, autor de
um artigo sobre haicai publicado no Bulletin de lcole Franaise dExtrme-Orient,
ao qual no tive acesso. O texto de Couchoud est disponvel em edio moder-
na, referida a seguir.
Paulo FRANCHETTI | O haicai no Brasil 259
da poesia era muito pobre no Japo pois o pas desconhecia no
s soneto, a balada, o vilancete, como a prpria rima , mas ainda
que o haicai era um fruto dessa pobreza. Nas suas palavras:
Est-se a ver que, em to pouco nmero de slabas, nem mesmo os
poetas de gnio podem fazer qualquer cousa que preste! O haicai foi
a tbua de salvao das mediocridades e dos nulos. Como a tanca ia
alm da infinita pobreza dos seus estros, verificaram eles que era im-
prescindvel a sua simplificao e lanaram esse gnero extravagante,
*
(DUTRA, Osrio. O pas
dos deuses aspectos, cos-
que Couchoud considera um quadro em trs pinceladas.*
tumes e paisagens do Japo.
Rio de Janeiro: Livraria Leite
Ribeiro, 1922: 231-2.)
A atitude de Osrio Dutra, porm, apontava para o sculo
XIX e no para o XX.
Neste, o haicai ganhava espao e apreo nos meios literrios,
principalmente graas atuao de Couchoud e seus amigos. E em
1920 j se tornara importante a ponto de a Nouvelle Revue Franai-
se dedicar grande espao ao de lngua francesa.
No grupo de Couchoud, destacou-se Julien Vocance (pseud-
nimo de Joseph Seguin -1878-1954). Vocance, que publicara, em
1916, uma coletnea de haicais de sucesso, intitulada Cent visions de
guerre, publica em 1921, no auge do prestgio da nova forma, uma
arte potica em tercetos, na qual sistematiza as suas idias sobre o
haicai e o seu papel de exemplo de uma nova atitude potica. Trata-
se da Art Potique, que saiu na revista La Connaissance.
Foi a primeira estrofe desse poema de combate por uma poe-
sia condensada, objetiva e afastada da tradio da eloqncia fran-
cesa que Paulo Prado tomou por haicai japons e inseriu no pref-
cio ao volume Pau Brasil.
A primeira apario significativa do haicai nas letras brasileiras
ocorreu, portanto, por via europia, em consonncia com o interesse
que nele tiveram as vanguardas do primeiro ps-guerra. Nesse mo-
mento, nada indica, entretanto, que houvesse no Brasil alguma reper-
cusso do interesse pela forma nas vanguardas em lngua inglesa.
II
A primeira apropriao do haicai na literatura brasileira seria
de fato obra do Modernismo, mas no da sua vertente mais van-
guardista, e sim daquela que mantinha traos de ligao mais for-
tes com a literatura do comeo do sculo.
260 ALEA VOLUME 10 NMERO 2 JULHO-DEZEMBRO 2008
Foi Guilherme de Almeida quem tornou o haicai conhecido
no Brasil, nas dcadas de 1930 e 1940.4 E o fez por meio de uma
ao consistente na direo oposta do estranhamento exotista.
Na sua adaptao do haicai, Guilherme de Almeida aprovei-
tou basicamente duas caractersticas formais do poema japons: a
distribuio das palavras em trs segmentos frasais (que ele identi-
ficou ao verso, medido maneira portuguesa) e a composio por
justaposio de duas frases, numa estrutura tpico/comentrio.
Mas como as 17 slabas do original, distribudas em trs ver-
sos de medida diferente e sem rima, no produziam efeito rtmico
interessante, Guilherme de Almeida inseriu no seu haicai duas ri-
mas: uma a unir o primeiro com o terceiro verso, e outra interna
ao segundo verso, ocupando a segunda e a ltima slaba.
Eis um exemplo:
Desfolha-se a rosa.
Parece at que floresce
O cho cor-de-rosa.
Com esse recurso, Guilherme de Almeida conseguiu am-
pliar a regularidade mtrica, pois, marcados pela rima, temos ago-
ra as seguintes seqncias mtricas: cinco slabas, duas slabas, cin-
co slabas e cinco slabas. Isso d, tanto quanto possvel, um anda-
mento marcado e reconhecvel ao poemeto, com trs segmentos
isossilbicos e um quebrado perfeitamente assimilvel acentua-
o do pentasslabo.
Alm disso, para eliminar o carter impreciso e algo enigm-
tico do haicai, inseriu neles um ttulo.
Para que possamos perceber em que consiste a sua adaptao
do poema japons, vejamos agora dois haicais que o prprio Gui-
lherme de Almeida, juntamente com o anterior, colocava entre os
seus mais queridos:
Um gosto de amora
Comida com sol. A vida
Chamava-se: Agora.
4
A anlise a seguir retoma, muito resumidamente, a que se encontra no artigo
Guilherme de Almeida e a histria do haicai no Brasil, includo no volume Es-
tudos de literatura brasileira e portuguesa, j referido.
Paulo FRANCHETTI | O haicai no Brasil 261
A verdade que os poemetos de Guilherme de Almeida pa-
recem fracassar como haicais no pela rima, nem pela mtrica,
mas pela atitude que se explicita quando os lemos com os ttulos
que tm.
Lido como o transcrevi, sem o ttulo, esse terceto poderia ser
classificado como haicai, de acordo com a tradio japonesa, pois
seria uma percepo sbita a partir de uma sensao concreta: o
gosto da amora parece estar no presente, parece ser uma anotao
sensvel, que termina por ser reforada por uma evocao de um
tempo e estado passados.
Mas quando lemos com o ttulo que tem, a impresso se desfaz:
infncia
Um gosto de amora
Comida com sol. A vida
Chamava-se: Agora.
Nesta verso, o gosto de amora faz parte do passado, lem-
brana de um gosto, evocao mental e no sensao imediata. Com
o ttulo, a amora no mais um kigo (uma palavra de estao) que
dispara uma determinada emoo. Agora, o sentimento que re-
cria a sensao como smbolo do bem perdido.
De modo que a primeira adaptao popular do haicai no Bra-
sil consistiu, na verdade, num apagamento da sua singularidade e
na sua adoo como mera forma, como espao de exerccio do vir-
tuosismo, quase como se fosse uma espcie de micro-soneto.
III
O momento seguinte na histria da incorporao do haicai
literatura brasileira a segunda dentio, para usar o termo de
Oswald tem enfoque diametralmente oposto e repercusses mais
amplas e profundas.
Como sucedera com o momento anterior, a inspirao e a in-
formao vm de fora do pas, e no da produo de haicai em ja-
pons que a imigrao japonesa (iniciada em 1908) trouxe para
o Brasil , nem do contato com a colnia nipnica.
A fonte direta um ensaio de Ernest Fenollosa (1853-1908),
americano que vivera muitos anos no Japo e se tornara grande co-
nhecedor da arte nipnica. Esse trabalho se chamou Os caracte-
262 ALEA VOLUME 10 NMERO 2 JULHO-DEZEMBRO 2008
res da escrita chinesa como um instrumento para a poesia e s foi
editado em 1919 por Ezra Pound, que o comentou em vrias no-
tas de sua autoria.5
Foi esse texto de Fenollosa que forneceu a Pound uma idia
de grande importncia para o desenvolvimento de sua potica: a de
que existiria na poesia chinesa e japonesa um princpio compositivo
extremamente eficaz e diferente da ordenao lgica ocidental.
Segundo Fenollosa, nesse processo de composio, duas coisas
que se somam no produzem uma terceira, mas sugerem uma rela-
o fundamental entre elas. o princpio da montagem, que, para
Fenollosa/Pound, presidiria tanto criao dos prprios ideogramas,
quanto das obras de arte geradas numa civilizao ideogramtica.
Partindo desse princpio, Pound vai valorizar no haicai a for-
ma de organizao do discurso por justaposio, em que a relao
entre as partes justapostas de natureza metafrica. A composio
ideogramtica teve, como se sabe, grande importncia no pensa-
mento de Pound, que nela via a base do Imagismo, bem como o
princpio de estruturao da sua obra de maturidade, os Cantos.
Foi por intermdio de Pound que o haicai atuou de forma
marcante na poesia brasileira recente. E foi por conta de seus tra-
balhos e da sua obra que a reflexo sobre poesia e escrita chinesa e
japonesa adquiriu entre ns importncia destacada, por meio de
trabalhos de Dcio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos, que,
a partir de 1955, difundiram no Brasil as idias de Pound e fize-
ram da reflexo sobre o princpio ideogramtico de composio
um dos pontos centrais da nova potica de vanguarda, denomina-
da Poesia Concreta.6
O interesse da Poesia Concreta pelo haicai tem, como realiza-
es principais, a publicao por Haroldo de Campos de dois artigos
no jornal O Estado de S. Paulo, em 1958 e 1964: Haicai: homena-
gem sntese e Visualidade e conciso na poesia japonesa. Esses
artigos, que depois foram incorporados ao volume A arte no horizon-
te do provvel (1969) traziam, alm da exposio das idias de Pound
e da importncia do haicai para a sua constituio, comentrios ao
5
H traduo brasileira em CAMPOS, Haroldo de (org.) Ideograma lgica, poe-
sia, linguagem. So Paulo: Cultrix / Edusp, 1977.
6
Para uma anlise do papel do ideograma na formulao do projeto da poesia
concreta ver FRANCHETTI, P. Alguns aspectos da teoria da poesia concreta. (Cam-
pinas: Editora da Unicamp, 1993.) Para um comentrio mais detido da tradu-
o de Haroldo de Campos, ver FRANCHETTI, P. Apresentao, em Haikai
antologia e histria. (Campinas: Editora da Unicamp, 1996.)
Paulo FRANCHETTI | O haicai no Brasil 263
texto de Sergei Eisenstein sobre a montagem (Film form, 1929) e
exemplos de traduo de haicais clssicos japoneses, de acordo com
as idias de Fenollosa e Pound sobre o ideograma.7
Por conta da matriz do seu pensamento, Haroldo de Campos
centra a ateno no ideograma e faz dele o centro, o princpio estru-
turador da poesia de haicai. Com isso, praticamente reduz ao proce-
dimento literrio da montagem ideogramtica o interesse do haicai
para a nossa prpria tradio.
Suas tradues, em conseqncia, ressentem-se, quando coteja-
das com os textos originais, de uma excessiva nfase na tcnica com
positiva e de um descolamento daquilo que constitui e condiciona
boa parte da forma mesma do haicai na tradio de Bash: o dilo-
go com o que no est dito, a modstia como valor compositivo e a
recusa ao brilho obtido apenas com o manejo de palavras.
Nesse sentido, apesar das diferenas decorrentes da poca e do
lugar de que fala cada um deles, a forma de aproximao de Harol-
do de Campos ao haicai homloga de Guilherme de Almeida.
Isto , ambos vem o haicai a partir de um ponto de vista essencial-
mente formal e ambos buscam, no haicai (como produo lrica ou
como traduo), um espao para o virtuosismo tcnico.
Nenhum dos trs principais poetas e idealizadores da Poesia
Concreta se dedicou produo de haicais. No mbito do movimen-
to, apenas Pedro Xisto (1901-1987) produziu haicais, tendo publi-
(XISTO, Pedro. Partculas.
cado uma coletnea deles no volume Partculas, de 1984.*
*
TPIA, Marcelo (org.). So
Paulo: Massao Ohno/Ismael O perodo compreendido entre o lanamento da poesia con-
Guarnelli, 1984.)
creta e a reunio dos haicais de Pedro Xisto , por vrios motivos, o
perodo de ouro do haicai no Brasil, no que diz respeito sua disse-
minao e adaptao.
Entre essas balizas situa-se a produo de dois autores que tor-
naram o haicai definitivamente popular no pas: Paulo Leminski e
Millr Fernandes.
IV
Millr (1923), que foi tambm um dos fundadores do cle-
bre jornal Pasquim, sempre escreveu em revistas de grande tiragem
(O Cruzeiro e Veja, por exemplo). Nelas publicou, a partir de 1948,
tercetos de carter satrico, cmico, lrico ou apenas espirituoso, que
7
Os textos foram depois reproduzidos em A arte no horizonte do provvel. So
Paulo: Perspectiva, 1969. O ensaio de Eisenstein tambm foi traduzido no vo-
lume Ideograma, cit.
264 ALEA VOLUME 10 NMERO 2 JULHO-DEZEMBRO 2008
denominou Hai-Kais. Reunidos em livro em 1986 e disponveis
atualmente no site do autor, so poemas de grande penetrao e su-
cesso de pblico.
O hai-kai de Millr usualmente um epigrama (composto
o mais das vezes de uma s frase) em trs versos livres, dos quais se
rimam o primeiro e o terceiro.
Para Millr, como ele mesmo registra, o haicai uma forma
fundamentalmente popular e, inmeras vezes, humorstica, no mais
metafsico sentido da palavra. No mesmo passo informa que seu
interesse pelo haicai, enquanto forma de expresso direta e econ-
mica, data de 1957, quando respondia pela seo de humor da re-
vista O Cruzeiro.
Acompanhado sempre de um desenho do autor, que com-
pleta o sentido do poema, dialoga com ele ou apenas serve de ilus-
trao, sua caracterstica principal constituir um dito espirituoso,
cuja ironia de regra acentuada pelo tom cantante que lhe d a ri-
ma bem destacada.
A coloquialidade e o tom irnico filiam o hai-kai de Millr
na poesia de Oswald de Andrade (especialmente a recolhida no Pri-
meiro Caderno) e o integram na linha do poema-piada do Modernis-
mo brasileiro. A disposio em trs segmentos espaciais, entretanto,
tudo o que parece ter aproveitado do poema tradicional.
Coloquialidade e ironia caracterizam tambm o haicai de Pau-
lo Leminski (1944-1989).8 Entretanto, no caso deste o interesse do
haicai no se reduz apenas a isso e forma livre do terceto.
A importncia de Leminski, na histria da apropriao do
haicai pela cultura brasileira grande, porque nele se vai juntar a
abordagem tecnicista da poesia concreta com o orientalismo zenis-
ta que marcou a contracultura na segunda metade do sculo XX.
Com propriedade, Caetano Veloso o definiu como clima/mistu-
ra de concretismo com beatnik e nele viu um haicai da formao
(VELOSO, Caetano. In: LE-
cultural brasileira.*
*
MINSKI, Paulo. Caprichos
Nos textos de Paulo Leminski encontram-se, vivificadas por um & relaxos (saques, piques,
toques & baques). So Pau-
apelo prtica de um modo de vida zen, a presena de Allan Watts lo: Brasiliense, 1983: quar-
ta capa.)
o mentor do orientalismo californiano dos anos 50 e 60, um inte-
lectual brilhante, que no tocante difuso do pensamento religioso
budista no Ocidente s encontra rival em D. T. Suzuki e de Regi-
8
Para uma anlise do lugar de Leminski na poesia brasileira recente, ver o artigo
Ps-tudo: a poesia brasileira depois de Joo Cabral, includo no volume Estu-
dos de literatura brasileira e portuguesa, j referido.
Paulo FRANCHETTI | O haicai no Brasil 265
nald Blyth, que escreveu alguns dos textos fundamentais do sculo
XX no que diz respeito poesia e ao pensamento japons.
Alm de bom poeta, Leminski tinha tambm o dom de utili
zar a mdia com habilidade e eficincia. Desconfiado da formalidade
acadmica e do que chamava, na esteira do concretismo, de lgica
aristotlica da linguagem, apelava para a experincia irracional co-
mo fonte de conhecimento para o haicai e para tudo o mais. Quem
quiser entender o zen, dizia, matricule-se na mais prxima acade-
mia de artes marciais.
Ao mesmo tempo, mantinha com o virtuosismo tcnico e com
a agudeza intelectual uma relao marcada pelo ldico, num regis-
tro entre a inocncia e o deslumbramento.
Muitos dos seus poemas tm, inconfundvel, um claro sa-
bor de haicai e, quanto forma, uma grande liberdade, que ora
permite o uso da rima e da assonncia, ora utiliza o verso branco e
sem medida, ora monta o poema visualmente, tirando partido do
espao e da forma fsica das letras e palavras.
De modo que, no que diz respeito tradio brasileira, o seu
haicai representa um momento de espetacular adaptao da forma
e do gnero ao portugus, combinando a nfase na tcnica da mon-
tagem ideogramtica a que era muito atento com o apelo tradi-
cional japons de radicar o haicai numa prtica, isto , de v-lo co-
mo um caminho de vida, uma forma de trazer a poesia para dentro
do cotidiano, identificando-a exteriorizao elegante e bem-hu-
morada da experincia sensria mais elementar.
Nessa breve histria, tal como a narrei at aqui, h um gran-
de ausente: a comunidade japonesa instalada no Brasil em sucessi-
vas levas de imigrantes, num processo que comeou h cem anos,
em 1908.
Mas a ausncia explicvel. Apesar de a colnia japonesa man-
ter uma produo de haicai em japons e alguns de seus integrantes
terem desenvolvido um importante trabalho de difuso e adaptao
do haicai natureza brasileira, a apropriao da forma e do esprito
do haicai se deu praticamente sem a sua concorrncia.
certo que Guilherme de Almeida conviveu com Masuda
Goga e outros praticantes do haicai em japons, mas o prprio re-
sultado de sua prtica mostra que ele no radicou a sua experincia
266 ALEA VOLUME 10 NMERO 2 JULHO-DEZEMBRO 2008
na tradio dos imigrantes. E os que de alguma forma o fizeram,
como Jorge Fonseca Jr., por exemplo, permaneceram desconheci-
dos e sem obra de ressonncia.
Sendo assim, se a histria terminasse no momento de esplen-
dor do haicai no Brasil, que foi o momento de consagrao de Le-
minski como poeta, no haveria necessidade de referir a prtica da
comunidade japonesa, embora se tratasse de uma tradio muito
interessante e notvel, que tem em Nempuku Sato (1898-1979)
um vulto proeminente.
Nempuku Sato foi discpulo de Kyoshi Takahama (1874-
1959), que, por sua vez, foi um dos principais discpulos de
Masao-
ka Shiki (1867-1902), o restaurador do haicai tradicional no Japo
e um dos quatro grandes da arte, junto com Bash, Issa e Buson.
Quando Nempuku emigrou para o Brasil, recebeu de seu
mestre a misso de semear um pas de haicais. O que ele fez, com-
pondo em japons e difundindo a arte no interior dos ncleos de
imigrantes. Entre os seus discpulos estava Hidekazu Masuda Go-
ga (1911-2008), que anos depois, em So Paulo, na companhia de
Teiiti Suzuki professor da Universidade de So Paulo , manteria
acesa a chama do haicai em japons.
E aqui comea o ltimo captulo da histria do haicai no Bra-
sil, que chega assim aos dias do presente.
No final dos anos de 1980, Masuda Goga participou da criao
de um ncleo de produo de haicai tradicional japons em lngua
portuguesa, ainda ativo. Alm da prtica regular, nos moldes tradi-
cionais, Goga pesquisou a aclimatao do haicai no Brasil de que
resultou, em 1986 e 1988, um volume publicado em japons e em
*
(GOGA, H. Masuda. Bu-
portugus, intitulado O haicai no Brasil.* E na dcada seguinte, rajiru no haikai (O haicai
em 1996, publicou, junto com sua sobrinha Teruko Oda, o primeiro no Brasil). Tquio: Revista
Haiku bungakukan kiy, v.
dicionrio brasileiro de kigo (palavras referentes s estaes do ano), 4, 1986. O Haicai no Brasil.
So Paulo: Editora Orien-
com exemplos de haicais compostos maneira tradicional.* to, 1988.)
O grupo formado volta de Masuda Goga representa um no- *
(GOGA, H. Masuda; ODA,
vo estgio na apropriao do haicai pela literatura brasileira. Pela Teruko. Natureza - Bero
do Haicai. So Paulo: Em-
primeira vez, a prtica tradicional do haicai japons diretamente presa Jornalstica Dirio Ni-
ppak, 1996.)
transposta para lngua nacional, com todas as dificuldades que isso
implica, a comear pela catalogao dos kigo num pas que se dis-
tribui ao longo de 20% da latitude do globo terrestre.
Da perspectiva desse grupo, a especificidade do haicai reside
em obter uma percepo de mundo ampla ou intensa por meio de
uma sensao vinculada sucesso das estaes do ano.
Paulo FRANCHETTI | O haicai no Brasil 267
Nunca ser demais reiterar o carter central que a sensao li-
gada ao fluxo das estaes tem no haicai clssico japons. Lendo os
textos dos mestres do gnero, fica muito claro que na reduo do
poema ao contraste entre a fugacidade da sensao e o seu ecoar nas
diversas cordas da sensibilidade e da memria que reside a especifi-
cidade do haicai. Para situar a sensao num quadro mais amplo, o
haicai clssico se vale do kigo. Em muitos casos, o kigo representa o
aqui e o agora, a prpria sensao que originou uma dada emoo;
em outros tantos, permite criar, muito economicamente, o mood
caracterstico que envolve e atribui significado a uma dada impres-
so sensria. Da a importncia do kigo no haicai japons.
Por conta da extrao tradicional, a prtica do grupo enfati-
za o respeito ao kigo e promove a sua catalogao sistemtica. Al-
gumas vezes, a vontade de catalogar e estabelecer os termos de es-
tao brasileiros parece erguer-se como primeiro objetivo, o que
prejudica o haicai. o caso especialmente dos haicais que utilizam
palavras pouco usuais como hibernal, vernal, arrebol etc. Outras
vezes, a busca do enquadramento sazonal a qualquer preo pode
produzir algum efeito de artificialidade que tambm no contribui
para a realizao do poema.
No conjunto da produo desse grupo sobressai, no s pe-
la obra que veio construindo, mas tambm pela intensa atividade
formadora, por meio de oficinas, concursos e liderana em grupos
de haicai, a poeta nissei Teruko Oda.
Seus haicais, caracterizados por acentuada preocupao social
e, s vezes, por algum sentimentalismo, tm tido grande penetrao,
especialmente no ambiente escolar. Um de seus livros, inclusive,
foi recentemente adquirido pelo governo do Estado de So Paulo,
num programa de formao de bibliotecas de escolas pblicas de
nvel bsico. O que notvel testemunho da assimilao da forma,
porque esse livro, que integra agora as bibliotecas escolares de So
Paulo, traz haicais maneira tradicional japonesa, isto , orientados
pela prtica do haicai em japons no interior da colnia.
No momento, no Brasil, coexistem e esto ativas as vrias ver-
tentes do haicai brasileiro: a tradicionalista, a de inspirao zen, a fi-
liada a Guilherme de Almeida, a epigramtica e a de matriz concre-
tista. O que parece novo o sincretismo que se opera entre elas (com
exceo da vertente guilhermina, que pouco dialoga com as demais),
ganhando mais peso a incorporao dos princpios e prticas do haicai
tradicional, entendido antes como atividade, como aprendizado de
268 ALEA VOLUME 10 NMERO 2 JULHO-DEZEMBRO 2008
uma determinada forma de olhar para o mundo e utilizar a lingua-
gem, do que como tcnica de composio ou forma fixa extica.
Esse novo momento, por isso mesmo, permite imaginar que
o poema de origem japonesa poder continuar a ter, na literatura
brasileira, um papel interessante de contraponto por conta da sua
singular reivindicao simultnea de impessoalidade de linguagem
e reduo do poema experincia sensvel concreta s tendncias
dominantes na poesia brasileira de hoje, que tambm se combinam
entre si de maneira variada: a administrao da herana minima-
lista concreto-cabralina, a sempre-viva eflorescncia confessional e
o persistente beletrismo acadmico.
Paulo Franchetti
Professor titular do Departamento de Teoria Literria da Unicamp.
Principais trabalhos: Alguns aspectos da teoria da poesia concreta
(Campinas, 1989); Clepsydra Edio crtica (Lisboa, 1995); Nos-
talgia, exlio e melancolia leituras de Camilo Pessanha (So Paulo,
2001); As aves que aqui gorjeiam a poesia do Romantismo ao Sim-
bolismo (Lisboa, 2005); Estudos de Literatura Brasileira e Portugue-
sa (Cotia, 2007); O essencial sobre Camilo Pessanha (Lisboa, 2008);
Oeste/Nishi (Cotia, 2008).
Resumo
O artigo descreve as vrias leituras e apropriaes do haicai no Bra- Palavras-chave: haicai; poe-
sia brasileira; exotismo.
sil ao longo do sculo XX, das primeiras descries, baseadas em
fontes francesas contribuio recente dos imigrantes japoneses e
seus descendentes.
Abstract Rsum Key words: haiku; Brazilian
poetry; exoticism.
This article focuses on thein- Cet article dcrit plusieurs lec- Mots-cls: haiku; posie
terpretation andappropriation tures et formes dappropriation brsilienne; exotisme.
of haiku in Brazilalong 20th du haku au Brsil dans le 20e
century, with particular atten- sicle: partant des premires
tion to the early descriptions of descriptions, fondes sur des
haiku, based on French sources sources franaises, jusqu la
of information, until the recent contribution rcente des mi- Recebido em
16/05/2008
contribution of Japanese immi- grants japonais, ainsi que celle
Aprovado em
grants and their descendants. de leurs descendants. 30/06/2008
Paulo FRANCHETTI | O haicai no Brasil 269
Você também pode gostar
- De Renga A HaicaiDocumento35 páginasDe Renga A HaicaiEthienne FogaçaAinda não há avaliações
- FichamentoDocumento32 páginasFichamentoFran SilvaAinda não há avaliações
- Ensaio Literário No BrasilDocumento46 páginasEnsaio Literário No BrasilAna de OliveiraAinda não há avaliações
- O Livro Dos HaikaisDocumento136 páginasO Livro Dos HaikaisDarcio Rundvalt100% (9)
- Marleide Lins em Comprimidos, Minutos de PoesiaDocumento6 páginasMarleide Lins em Comprimidos, Minutos de PoesiaKelly Machado CarvalhoAinda não há avaliações
- Nempuku Sato - Trilha Forrada de FolhasDocumento88 páginasNempuku Sato - Trilha Forrada de FolhasDarcio Rundvalt100% (3)
- O Haicai No Brasil-FranchettiDocumento14 páginasO Haicai No Brasil-Franchettiorg22559Ainda não há avaliações
- Art. Claudio Texeira - Casimiro de BritoDocumento20 páginasArt. Claudio Texeira - Casimiro de BritoRamon SantosAinda não há avaliações
- A Face Proibida Do Ultra-Romantismo A Poesia Obscena de Laurindo RabeloDocumento11 páginasA Face Proibida Do Ultra-Romantismo A Poesia Obscena de Laurindo RabeloFelipe GenuínoAinda não há avaliações
- N-24 Mozambique - TraduçãoDocumento31 páginasN-24 Mozambique - TraduçãoSandra FonsecaAinda não há avaliações
- Oswald de AndradeDocumento6 páginasOswald de AndradeFernando Maia da CunhaAinda não há avaliações
- Artigo - Literatura Engajada em Língua Portuguesa Cabo Verde, Brasil e Portugal No Século XXDocumento17 páginasArtigo - Literatura Engajada em Língua Portuguesa Cabo Verde, Brasil e Portugal No Século XXMarisa SoaresAinda não há avaliações
- Aquilino Ribeiro - A Gesta Bárbara e Forte de Um Portugal Que MorreuDocumento9 páginasAquilino Ribeiro - A Gesta Bárbara e Forte de Um Portugal Que MorreuLuciana SousaAinda não há avaliações
- Alcantara MachadoDocumento13 páginasAlcantara MachadoMarcela TatajubaAinda não há avaliações
- História Da LiteraturaDocumento2 páginasHistória Da LiteraturawillAinda não há avaliações
- Machado de Assis Na França - Lea Mara Valesi StautDocumento12 páginasMachado de Assis Na França - Lea Mara Valesi StautTiago CostaAinda não há avaliações
- A Morte Da Canção Vários ArtigosDocumento29 páginasA Morte Da Canção Vários ArtigosArthur SouzaAinda não há avaliações
- Joao Alexandre BarbosaDocumento15 páginasJoao Alexandre BarbosaSwellen PereiraAinda não há avaliações
- Literatura Paulista e o Mito BandeiranteDocumento7 páginasLiteratura Paulista e o Mito BandeiranteRenato OliveiraAinda não há avaliações
- Regina IgelDocumento5 páginasRegina IgelEva Lana100% (2)
- Tratado de Versificação, de Olavo Bilac e Guimarães PassosDocumento83 páginasTratado de Versificação, de Olavo Bilac e Guimarães PassosGabriel Costa JalotoAinda não há avaliações
- Luso BrasileiroDocumento11 páginasLuso BrasileiroChemo GautyAinda não há avaliações
- NUNES, Benedito. Oswald CanibalDocumento79 páginasNUNES, Benedito. Oswald CanibalBaruch Bronenberg100% (6)
- 205-Texto Do Artigo-932-1-10-20200710Documento27 páginas205-Texto Do Artigo-932-1-10-20200710Catarina Branco R. CarvalhoAinda não há avaliações
- Historia Da Civilização Brasileira - 4Documento56 páginasHistoria Da Civilização Brasileira - 4Neandro ThesingAinda não há avaliações
- Textos de Informação e Contribuição JesuíticaDocumento11 páginasTextos de Informação e Contribuição Jesuíticaradukenx3Ainda não há avaliações
- Eras e Estilos LiteráriosDocumento7 páginasEras e Estilos LiteráriosAnthonio SSAinda não há avaliações
- Escolas LiteráriasDocumento12 páginasEscolas LiteráriasLarissa LopesAinda não há avaliações
- Formacoes Da Literatura Brasileira de 18Documento8 páginasFormacoes Da Literatura Brasileira de 18Tiago FelAinda não há avaliações
- Lalp IiDocumento5 páginasLalp IiWilliamAinda não há avaliações
- Repensando A Trajetória de OswaldDocumento5 páginasRepensando A Trajetória de OswaldmvfalbuquerqueAinda não há avaliações
- Artigo Coelho NetoDocumento10 páginasArtigo Coelho NetorenatytaAinda não há avaliações
- Poesia ParnasianaDocumento3 páginasPoesia ParnasianaAndressa Bastos PazAinda não há avaliações
- Literatura Africana de Língua PortuguesaDocumento16 páginasLiteratura Africana de Língua PortuguesaEdson VilanculosAinda não há avaliações
- Periodização Da Literatura BrasileiraDocumento19 páginasPeriodização Da Literatura BrasileiraHildaMenezes100% (2)
- Abra PlipDocumento1.107 páginasAbra PlipKenedi AzevedoAinda não há avaliações
- Lírica MoçambicanaDocumento5 páginasLírica MoçambicanaJuvenalAinda não há avaliações
- Capítulo 8 - Poesia e Modernidade em Álvaro de Campos. Por Kleyton Ricardo Wanderley Pereira - Versão Beta LiteraturaDocumento22 páginasCapítulo 8 - Poesia e Modernidade em Álvaro de Campos. Por Kleyton Ricardo Wanderley Pereira - Versão Beta Literaturacasulo catuloAinda não há avaliações
- INTERCÂMBIO, PRSENÇA E INFLUÊNCIA DA POESIA CONCRETA BRASILEIA NO JAPÃO. L. C. Vinholes Primavera 1976Documento1 páginaINTERCÂMBIO, PRSENÇA E INFLUÊNCIA DA POESIA CONCRETA BRASILEIA NO JAPÃO. L. C. Vinholes Primavera 1976Vinicius CarneiroAinda não há avaliações
- o Cânone Na História Da Literatura PDFDocumento15 páginaso Cânone Na História Da Literatura PDFsauloAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento3 páginasResenhaVinicios PereiraAinda não há avaliações
- Manifesto Pau-BrasilDocumento2 páginasManifesto Pau-BrasilKelwin FeitosaAinda não há avaliações
- Mário de AndradeDocumento16 páginasMário de AndradeNicoleGomezCaballeroAinda não há avaliações
- Trabalho de Portugues .. Fernando PessoaDocumento7 páginasTrabalho de Portugues .. Fernando PessoaDanny SantoosAinda não há avaliações
- Fernando Pessoa e Geração OrpheuDocumento10 páginasFernando Pessoa e Geração OrpheuNicole MalvasAinda não há avaliações
- A Modernidade de Um Passadista Leitura Do Romance de Amadis de Afonso Lopes VieraDocumento21 páginasA Modernidade de Um Passadista Leitura Do Romance de Amadis de Afonso Lopes Vierajoseana_stringiniAinda não há avaliações
- Os Tercetos de Afrânio PeixotoDocumento17 páginasOs Tercetos de Afrânio PeixotoazzevedoAinda não há avaliações
- Thamiristeixeira, Artigo II CNAB Eidson MiguelDocumento12 páginasThamiristeixeira, Artigo II CNAB Eidson MiguelEdu D'AlmeidaAinda não há avaliações
- Leminski Tradutor de Bashô - PRÉ PROJETODocumento8 páginasLeminski Tradutor de Bashô - PRÉ PROJETOJaq MendesAinda não há avaliações
- Oswald de AndradeDocumento9 páginasOswald de AndradeNathhy LimaAinda não há avaliações
- Olavo Bilac - Tratado de Versificação (Reformatado)Documento200 páginasOlavo Bilac - Tratado de Versificação (Reformatado)Francisco Escorsim100% (2)
- A Geração Da OrpheuDocumento17 páginasA Geração Da OrpheuBruno LaraAinda não há avaliações
- Modernismo No Brasil 1 FASEDocumento10 páginasModernismo No Brasil 1 FASEAline Novellino100% (1)
- A Teoria de Antonio Candido E A Formação Da Literatura AustralianaDocumento17 páginasA Teoria de Antonio Candido E A Formação Da Literatura AustralianaLiterrae TOAinda não há avaliações
- O Naturalismo Na Livraria Do Seculo XIXDocumento20 páginasO Naturalismo Na Livraria Do Seculo XIXLeonardo MendesAinda não há avaliações
- O Naturalismo Na Livraria Do Seculo XIXDocumento20 páginasO Naturalismo Na Livraria Do Seculo XIXLeonardo MendesAinda não há avaliações
- Bilac, Olavo & Passos, Guimaraens - Tratado de VersificaçãoDocumento100 páginasBilac, Olavo & Passos, Guimaraens - Tratado de VersificaçãoIgor Pereira100% (1)
- A Poesia No Brasil - Olavo BilacDocumento13 páginasA Poesia No Brasil - Olavo BilacfabiociolfiAinda não há avaliações
- Mário de AndradeDocumento10 páginasMário de AndradeCesarLobo93Ainda não há avaliações
- A Revista PresençaDocumento20 páginasA Revista PresençarodrigoaxavierAinda não há avaliações
- Bio4Calc Calculo Fermento para Cervejeiro Caseiro1Documento1 páginaBio4Calc Calculo Fermento para Cervejeiro Caseiro1Juca LimaAinda não há avaliações
- Como Fazer Um StarterDocumento4 páginasComo Fazer Um StarterJuca LimaAinda não há avaliações
- Apostila KiusDocumento9 páginasApostila KiusJuca LimaAinda não há avaliações
- Lutas Na Escola - Resenha Livro OlivierDocumento5 páginasLutas Na Escola - Resenha Livro OlivierJuca LimaAinda não há avaliações
- Das Brigas Aos Jogos Com RegrasDocumento15 páginasDas Brigas Aos Jogos Com RegrasJuca Lima100% (1)
- Duchamp e o Fim Do GostoDocumento16 páginasDuchamp e o Fim Do GostoJuca LimaAinda não há avaliações
- Cultivo Videira PodaDocumento20 páginasCultivo Videira PodaJuca LimaAinda não há avaliações
- Vinho NordesteDocumento26 páginasVinho NordesteJuca LimaAinda não há avaliações
- Teoria Da LiteraturaDocumento37 páginasTeoria Da LiteraturaViviane GodoiAinda não há avaliações
- FRANCHETTI, PAULO. Estudos de Literatura Brasileira e Portuguesa. Cotia, SP - Ateliê, Pp.Documento8 páginasFRANCHETTI, PAULO. Estudos de Literatura Brasileira e Portuguesa. Cotia, SP - Ateliê, Pp.Vendaval EducomdigitalAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura para Análise - VisãoDocumento3 páginasFicha de Leitura para Análise - VisãoFranciane MourãoAinda não há avaliações
- Literatura em Libras Rachel Sutton SpenceDocumento267 páginasLiteratura em Libras Rachel Sutton SpenceRenan Soares Magalhaes100% (2)
- Revista Helena 0Documento116 páginasRevista Helena 0Livros e RabiscosAinda não há avaliações
- PredicadosDocumento4 páginasPredicadosFRANCIELI DA SILVAAinda não há avaliações
- EBOOK - Cadernos de Dispositivos de Cinema Na EI - Folhas IndividuaisDocumento204 páginasEBOOK - Cadernos de Dispositivos de Cinema Na EI - Folhas IndividuaisPedro JuniorAinda não há avaliações
- Daniel Dos Santos Machado - HAICAI, UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA: TEMA, FORMA E CONTEÚDODocumento115 páginasDaniel Dos Santos Machado - HAICAI, UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA: TEMA, FORMA E CONTEÚDOlovemmaAinda não há avaliações
- PoetrixDocumento70 páginasPoetrixHenry Bugalho100% (1)
- (Mestrado) Usp-O Haikai Nas Artes Visuais - Tradução Intersemiótica PDFDocumento192 páginas(Mestrado) Usp-O Haikai Nas Artes Visuais - Tradução Intersemiótica PDFCamila de SáAinda não há avaliações
- ElucidárioDocumento8 páginasElucidárioJaime AdiltonAinda não há avaliações
- Poesia SempreDocumento280 páginasPoesia SempreVicente Alves LucenaAinda não há avaliações
- HaicaiDocumento23 páginasHaicaimeuamoreeuAinda não há avaliações
- Textos Do Agora IDocumento122 páginasTextos Do Agora IEduardo QuintasAinda não há avaliações
- Artes Na EscolaDocumento223 páginasArtes Na EscolaDébora BarreirosAinda não há avaliações
- A Razão Da PoesiaDocumento40 páginasA Razão Da PoesiaIsabelle PantojaAinda não há avaliações
- Anais Volume-Ii-Iv-Sillpro GirleneDocumento17 páginasAnais Volume-Ii-Iv-Sillpro GirleneMárcio RolimAinda não há avaliações
- Haicai YuriDocumento4 páginasHaicai YuriCiceroFilosofiaAinda não há avaliações
- Gênero LíricoDocumento29 páginasGênero LíricoLetícia SepiniAinda não há avaliações
- Outro Silencio - Alice RuizDocumento93 páginasOutro Silencio - Alice Ruizsilaskalppa1100% (1)
- Coletânea de AtividadesDocumento23 páginasColetânea de AtividadesRégi SantosAinda não há avaliações
- Danielle Marinho - A Poética de Casimiro de BritoDocumento15 páginasDanielle Marinho - A Poética de Casimiro de Britoalex_3050Ainda não há avaliações
- Três Poetas em Minase: Sôgi, Shôhaku e SôchôDocumento236 páginasTrês Poetas em Minase: Sôgi, Shôhaku e Sôchômaximus93Ainda não há avaliações
- Projeto Helena KolodyDocumento3 páginasProjeto Helena KolodyAlvaro Barbosa Da SilvaAinda não há avaliações
- Glossário HaicaísticoDocumento7 páginasGlossário Haicaísticosatz lawrenceAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO Gustavo Henrique Rodrigues Da SilvaDocumento166 páginasDISSERTAÇÃO Gustavo Henrique Rodrigues Da SilvaLUCAS X GAMER BR™Ainda não há avaliações