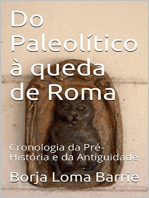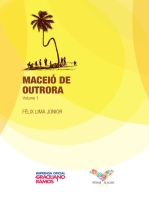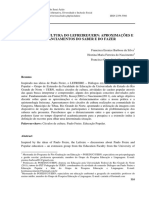Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Nosso Cancioneiro - Jose de Alencar. (Projeto Cordel)
Enviado por
Glauber PinheiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Nosso Cancioneiro - Jose de Alencar. (Projeto Cordel)
Enviado por
Glauber PinheiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
BRASIL, PAÍS DE LETRAS E SONS:
ANÁLISE DE O NOSSO CANCIONEIRO, DE JOSÉ DE ALENCAR
Manoel Carlos Fonseca de Alencar
RESUMO
Objetivamos, com essa pesquisa, analisar o estudo sobre a poesia popular realizado por
José se Alencar em 1874, com o título O Nosso Cancioneiro. Observamos que, para o
autor, o principal sentido atribuído à poesia popular é o fato de ela corresponder ao seu
projeto de nacionalização da literatura. As poesias “Boi Espácio” e “Rabicho da
Geralda”, que versam sobre bois bravos, desgarrados das fazendas, analisadas por
Alencar, justificam a sua ideia de que no Brasil ainda existia poesia épica, pois era um
país ainda em sua florescência. Evidencia uma visão otimista, até ufanista, do Escritor
com respeito ao futuro do País – representação do povo que se apagou com a geração
positivista posterior a Alencar, e só ressurgiu na década de 1920.
Palavras-chave: Literatura; Cultura Popular; Nação.
ABSTRACT
This research aimed to examine the study of folk poetry performed by José Alencar in
1874 intitled O Nosso Cancioneiro. With the analysis it was observed that, for the
author, the main meaning attributed to popular poetry is that it conforms to his
project of nationalization of the literature. The poems "Boi Espácio" and "Rabicho da
Geralda", are respectively about the brave bulls, that runs away from the farms and
that were analyzed by Alencar, justifying his idea that still existed in Brazil epic
poetry, and for him it was a country still in its fluorescence. This study also highlights
an almost boastful, optimistic view of the writer with respect to the future of the
country. A representation of our people, which was despised with the later positivist
generation after Alencar and only resurfaced in the 1920s.
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
Keyswords: Literature; Popular Culture; Nation.
Manoel Carlos Fonseca de Alencar é professor da FECLESC-UECE e doutorando pela UFMG, na onde
desenvolve a pesquisa “A Cultura Popular Sertaneja em José de Alencar e Juvenal Galeno”. E-mail:
manoelcarlosf@gmail.com.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 117
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
Introdução
Em 1875, Capistrano de Abreu proferiu uma conferência na Escola
Popular1, intitulada “A literatura brasileira contemporânea”. Intentava fazer um
balanço do que havia sido escrito até aquele momento em termos de literatura e apontar
caminhos de uma nova estética a ser seguida pelas gerações posteriores. Como um
manifesto em prol do Naturalismo, Abreu advogava o argumento de que a
nacionalidade em Literatura e outras artes deve ser forjada tendo em conta as
influências do meio físico sobre a personalidade dos povos. Ele acentua que, “para
determinar a ação das aparências físicas, nenhum método é preferível ao estudo dos
contos populares.” Algumas laudas à frente escreve:
Para exprimir essa situação não bastam os contos populares. Daí a necessidade
da música, a mais subjetiva das artes, a que por sua semelhança com o grito, pode
única manisfestar os segredos do coração. A música é tão natural e tão
espontânea no Brasil, que os indígenas a conheciam e cultivavam; um dos
primeiros cronistas, Lery, se não me engano, descreve com emoção seus efeitos
encantadores sobre os selvagens2.
Essa palestra de Capistrano baseou-se, certamente, em uma pesquisa que
fora encomendada por José de Alencar. Este último estava interessado, à época, em
mostrar que as poesias populares do Brasil oitocentista possuíam feição épica, ao
1A Escola Popular teve sua inauguração em 1874, no Ceará. Ela foi criada pela Academia Francesa, grupo de
intelectuais cearenses que trouxeram a leitura positivista para a Província, com base nas referências a Comte,
Taine, Spencer, Backle, entre outros. Fundada em 1872, a Academia publicava também um jornal chamado
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
Fraternidade, no qual expunha ideias anticlericais, científicas e progressistas. Dentre os membros de
instituição, constam: Capistrano de Abreu, Rocha Lima, Araripe Júnior, Thomás Pompeu Filho, Antônio
Bezerra, João Cordeiro, entre outros. Nesse sentido, consultar: ALENCAR, Manoel Carlos Fonseca de.
Adolfo Caminha e Rodolfo Teófilo: a cidade e o campo na literatura naturalista cearense. Fortaleza (CE),
UFC, 2002. (Dissertação de Mestrado); AZEVEDO, Sânzio de. A Academia Francesa do Ceará (1873-1875).
Fortaleza: Casa José de Alencar; Universidade Federal do Ceará, 1971.
2 ABREU, João Capistrano de. “A literatura brasileira contemporânea”. In: ________. Ensaios e Estudos:
crítica e história. 1ª série. Rio Janeiro: Sociedade Capistrano de Abreu; Livraria Briguie, 1931, p. 61-110. p.
67. Grifos do autor. Consultar: http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00158110.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 118
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
contrário das europeias, que eram líricas. Desta forma, as poesias sobre bois
desgarrados, colhidas diretamente da fonte popular, corroboravam seu projeto nacional
literário de constituir um passado glorioso para o país.
O que nos interessa, porém, nessa passagem de Capistrano, é exatamente a
emergência, na segunda metade do século XIX, de um pensamento que articula Música
e Literatura, visando à definição de um terceiro fator: a nacionalidade brasileira. É
nesse ponto que a história do pensamento social brasileiro desenvolve muitas
confluências, em que a cultura popular, a Música e Literatura conferem forma, cor, luz
e movimento a esse quadro amplo e diverso que chamamos Brasil.
Neste artigo, vamos nos ater à análise de um estudo pioneiro dessa
estrutura de sentimentos3 com respeito ao povo e sua cultura, que são as cartas de José
de Alencar, intituladas O Nosso Cancioneiro4. Como está explícito no título, o autor
pretende analisar as canções do povo e identificar sua importância para a Literatura e
a Cultura Brasileira.
Ressaltamos que, quando Alencar escrevia sobre poesia, estava tratando
também de música, pois, assim como os românticos, pressupunha a Música como
essencial forma expressiva da Literatura, e não apenas a imagem, como salientavam as
3 O conceito de Raymond Williams foi operacionalizado em seu estudo das visões sobre a Inglaterra rural na
literatura. Williams quis mostrar que, com respeito à Inglaterra rural, o pensamento social dos escritores
ingleses foi articulado dentro de determinadas estruturas que evocam sensibilidades com respeito ao mundo
rural. Lugar da estabilidade social, do contato com a natura, espaço por excelência da fruição poética, da
austeridade etc., o mundo rural é um espaço que transcende a sua referencialidade direta e traz à tona um
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
imaginário com intenso poder de significação. Por essas significações não serem apenas da ordem do
pensamento, mas dos sentimentos, das esperanças, das paixões, e que também são visíveis determinadas
configurações discursivas sobre esse espaço, o autor as denominou estrutura de sentimentos. Segundo ele, a
estrutura de sentimento é o pensamento como sentido e o sentimento como pensado. Com respeito à cultura
popular, observamos algumas estruturas de sentimento na segunda metade do século XIX. Alegoria da nação –
que na óptica romântica, representa uma essência primitiva ingênua, anônima – a cultura popular se prestou a
muitas fabulações que tinham por fim projetá-la como o lugar, por excelência, da nacionalidade brasileira. Ver:
WILLIAMS, Raymond. O Campo e a Cidade na história e na literatura. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
4 ALENCAR. José de. O Nosso cancioneiro. In: Obra completa, v. IV. Rio de Janeiro: Aguilar, 1960.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 119
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
teorias clássicas5. As poesias populares, por serem cantadas, poderiam oferecer à
Literatura brasileira modulações e ritmos, próprios da natureza americana.
A Música e a Literatura populares: a voz e o som do Brasil
A “descoberta” da cultura popular se deu no processo de emergência das
nações. Na virada do século XVIII para o século XIX, segundo Peter Burke, se tornou
moeda corrente entre os intelectuais, sobretudo de países periféricos da Europa6, a
pesquisa e a publicação de livros, revistas e almanaques, cujo interesse se centrava nas
culturas do povo, como essencial da definicão da nacionalidade.7 Os usos e costumes do
povo haviam tomado lugar no horizonte de interesses da intelectualidade. A cultura
popular se equiparava e imiscuia com outros temas também dignos de curiosidade. Os
hábitos e produtos do Oriente, as civilizações antigas, as línguas e costumes dos povos
primitivos alimentavam a demanda do Ocidente pelo que é exótico e estranho à
civilização europeia. Desde então, a prática disseminou-se pelo mundo e tornou-se
uma idiossincrascia das elites letradas de países diversos.
Esses produtos exóticos atendiam à compulsão de colecionadores diletantes
e às práticas museológicas e comerciais. Os produtos das Índias e das Américas podiam
ser encontrados em casas especializadas e atendiam aos mais diversos fins, dos
5 ABRAMS. M. H. O espelho e a lâmpada. São Paulo: Editora da Unesp, 2010.
6 Peter Burke observa que foi exatamente na Alemanha, país colonizado culturalmente pela França, que a
emergiram as ideias de cultura popular, ligada à nacionalidade. Renato Ortiz, corroborando as ideias de Burke,
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
observa que no Brasil a noção de cultura popular surgiu exatamente nas províncias do Norte, que eram as
menos desenvolvidas ou se encontravam em franca decadência. Ver: BURKE, Peter. A Cultura Popular na
Idade Moderna. São Paulo: Cia das Letras, 1989; ORTIZ, Renato. Românticos e Folcloristas: cultura
popular. São Paulo: Olho d´Água, 1992.
7 BURKE, Peter. op. cit. Interessante discussão nesse sentido pode ser encontrada no artigo de Prys Morgan,
no livro A Invenção das tradições. O autor estuda a invenção da cultura popular gaélica, cotejando-a com a
afirmação da nação galesa. MORGAN, Prys. “Da morte a uma perspectiva: a busca do passado galês no
período romântico.” In: HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence (orgs.). A Invenção das tradições. São Paulo:
Paz e Terra, 1997.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 120
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
decorativos aos culinários. Os museus, tanto particulares, quanto públicos, tiveram um
crescimento sem igual no século XIX e guardavam um sem-fim dessas curiosidades.
Nesses espaços de visitação, que aliavam diversão à aquisição de conhecimento geral, o
espectador tinha a vantangem de ver separados e classificados os diversos objetos por
épocas históricas, lugares de proveniência, utilidade e função.8 Em um século de
expansão imperial, a Europa parecia conter dentro de si o conhecimento de todo o globo
terrestre.
Os tipos e cenários de outros tempos e espaços serviam também à criação
artística. O passado europeu, a vida das comunidades interioranas, os hábitos e
costumes dos povos de países e continentes distantes, faziam-se presentes nas peças de
teatro e nas narraticas ficcionais, com personagens exóticos, cenas e decorações
exuberantes. As florestas tropicais e os aborígenes americanos, como se sabe, serviram
de inspiração para os romances Les Natchez e Atala, de Chateaubriand.
Tudo isso tornou-se possível em razão do hábito cada vez mais disseminado
entre as elites europeias de viagens pelo mundo. Patrocinadas pelos Estados
imperialistas, ou mesmo como excentricidade de particulares, essas viagens faziam
convergir para o continente europeu um amplo conjunto de relatos, objetos e
iconografia dos países distantes. Essa miscelânia de curiosidades, além de significarem
a globalização mundial pela integração de várias culturas a um saber ocidental,
racionalizador e classificatório, serviam também como traço distintivo de uma elite
letrada, ciosa de um conhecimento generalista e enciclopédico. Colecionar curiosidades e
relatar viagens por mundos distantes era um privilégio de uns poucos, que agregavam
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
mais essa faceta como requisito de uma formação e educação diferenciados; um
refinamento e erudição de usufruto restrito9.
8 Consultar: ROSI, Paolo. O passado, a memória, o esquecimento: seis ensaios da história das idéias. São
Paulo: Editora UNESP, 2010.
9 Ver: BOURDIEU, Pierre. A Distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk, 2011.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 121
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
Dentre outros significados, o interesse pela cultura popular circunscreve-se
nessa estrutura de sentimentos. Os usos e costumes do povo, suas lendas e crenças, sua
linguagem, incorporam-se à curiosidade de um olhar diletante e enciclopédico. Esse
universo que parecia afastado do homem civilizado das cidades era procurado tanto em
um lugar distante no tempo, como no espaço. No tempo, interessava uma cultura que
perdurava entre os mais velhos. Um saber que foi logo convertido em tradição, pois se
acreditava transmitido de geração em geração, e que poderia ser acessado de forma
quase integral, contanto que o pesquisador tivesse a persistência de um garimpeiro. No
espaço, interessavam os hábitos e costumes daqueles que residiam longe da cidade. O
homem do campo com sua cultura típica, seus modos espontâneos e austeros, parecia
destoar, em tudo, do cidadão civilizado. E aqueles que estavam ainda mais longe: os
habitantes das Américas, África e do Oriente distante.
Outro interesse dos intelectuais pela cultura popular, além da mera
curiosidade, reside no fato de que ela foi uma das bases sobre a qual se ergueu a
imaginação nacional. Desde o final do século XVIII, proliferaram, na Europa,
institutos e academias letradas, que tinham em pauta a pesquisa e publicação de
canções, lendas, “crendices” e casos contados pelo “povo”. Como bem demonstraram
Eric Hobsbawn e Terence Ranger, essa mentalidade presente entre os intelectuais é
parte indispensável de uma invenção da tradição, que subsidiou a imaginação das
nações modernas10. Das várias maneiras como foram inventadas as tradições – os
rituais, festas cívicas, hinos, emblemas nacionais etc. – a Literatura tem lugar na
imaginação nacional. Por meio dos romances históricos, dos estudos e publicação de
poesias e lendas, o meio letrado contribuiu, efetivamente, em forjar um passado para as
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
modernas nações.
No Brasil, o interesse dos letrados pelo que se denominou poesia popular,
foi posterior a independência política, e teve com esta estreita relação. Os intelectuais
10 HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence (orgs.). op. cit.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 122
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
correlacionavam os temas, as formas, a linguagem, presentes na poesia popular, com a
emergência da Nação brasileira, e viam, nessas, indícios de uma cultura típica e
original. Foi apenas na década de 1860, porém, que o despertar para as tradições do
povo tomou maior fôlego, consolidando-se como um tema digno de estudo, e suas
produções culturais passaram a ser colecionadas, classificadas e publicadas em suportes
escritos que possuíam certo prestígio.
Juvenal Galeno, considerado pelos estudiosos posteriores como o inventor
do folclore brasileiro11, publicou, em 1865, pela tipografia cearense João Evangelista, o
livro Lendas e Canções Populares, em que salienta: “foi no trabalho, no lar e na
política – na vida particular e pública, - na praia, na montanha e no sertão, - que ouvi
os cantos do povo, que reproduzi-os, que ampliei-os, sem desprezar a frase singela, a
palavra de seu dialeto, sua metrificação e até seu própria verso”12. Desde momento,
seguiram-se outros livros, em que a poesia popular e o sertão formavam um par
praticamente indissociável. Falar de poesia popular era falar de sertão. Era ele o lugar
por excelência de seu acento. Ilustrativos, nesse sentido, são os livros Sertanejas, de
Joaquim Heleodoro, e Quadros, de Joaquim Serra, publicados em 1873, bem como as
poesias de Trajano Galvão, que só foram enfeixadas em livro no ano de 1898, com o
título Sertanejas. Por outro lado, quando falavam de poesia popular, os intelectuais
tinham em vista as tradições portuguesas e mestiças, sobretudo de branco com o índio.
Este fato é indicativo de que este último vai perdendo seu lugar no imaginário
nacional, e dando lugar ao primeiro, que, desde a década de 1870, toma assento de
destaque, como tema privilegiado e conformador da identidade brasileira.
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
O estudo sobre a poesia popular O Nosso Cancioneiro, de José de Alencar,
situa-se nesse contexto. Publicado em 1874, no jornal O Globo, do Rio de Janeiro,
como cartas endereçadas a Joaquim Serra, elas têm como objetivo a análise de duas
11 Sobre o assunto, consular: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. A Feira dos Mitos: a fabricação
do folclore e da cultura popular (Nordeste 1920-1950). São Paulo: Intermeios, 2013.
12 GALENO, Juvenal. Lendas e Canções Populares. Fortaleza: Casa Juvenal Galeno, 1978. p. 45.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 123
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
poesias: “O Rabicho da Geralda” e “Boi Espácio”. Segundo o autor, “escusado é, pois,
repetir o muito que já se tem escrito acerca da poesia popular”13. A frase é indício de
que a poesia popular vai assumindo lugar privilegiado, como tema de interesse de parte
do meio letrado.
“É nas trovas populares que se sente mais viva a ingênua alma de uma
nação”. Com essa frase, José de Alencar começa o seu conjunto de artigos. Nesse
estudo, o autor aponta uma das formas com a qual os intelectuais poderiam manusear
a matéria popular. Além da publicação de poesias românticas, inspiradas nos temas
populares14, a coleta e o estudo da poesia popular começavam a se tornar uma prática
entre os intelectuais do período. Até aquele momento, os poetas nacionais serviam-se
livremente da poesia popular. Como os antiquários europeus, suas produções eram
“versões arranjadas”15. Eles defendiam a interferência na forma e no conteúdo das
poesias populares, porquanto acreditavam que o artista é capaz de acessar a alma
popular. Nesses livros, observamos que, embora alguns trechos da poesia sejam postos
entre aspas, em sua maior parte, o autor não é popular, mas o próprio escritor-autor do
livro. Não eram poesias do povo, mas versos inspirados no que denominavam “musa
popular”.
Diferentemente do que fora feito até ali, Alencar se preocupou em colher as
poesias da boca dos próprios sertanejos. Com esse objetivo, ele lançou mão de algumas
lembranças da sua infância no Ceará, algumas versões coletadas por amigos e a
pesquisa in loco, na viagem que fez a sua terra em 187316. O autor não apenas coletou
13 ALENCAR. José de. “O Nosso cancioneiro”. In: Obra completa, v. IV. Rio de Janeiro: Aguilar, 1960. p.
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
963.
14 Alencar cita o próprio Joaquim Serra, que em 1873 havia publicado o livro Quadros, no Rio de Janeiro, pela
editora Garnier. O livro tem escrito na folha de rosto: “livreiro editor do Instituto Histórico”. A primeira
parte do livro intitula-se Sertanejas, seguida da segunda parte intitulada Dispersas, em que o autor traduz
poesias de autores de outros países, e publica antigas poesias suas e de outros autores das províncias. Já
Joaquim Serra, em suas notas, cita Bernardo Guimarães, Trajano Galvão e Juvenal Galeno.
15 ORTIZ, Renato. Românticos e Folcloristas: cultura popular. São Paulo: Olho d´Água, 1992. p. 24
16 Nessa viagem Alencar conheceu pessoalmente Capistrano de Abreu, a quem encomendou a pesquisa das
poesias estudadas em O Nosso Cancioneiro.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 124
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
e publicou, mas também realizou estudo pioneiro sobre o significado da poesia popular
para a naturalização da literatura. A poesia popular e sua linguagem, modulações,
sintaxes, ou melhor, do ponto de vista tanto gramatical como sob o prisma sonoro,
ofereciam os elementos essenciais necessários para o escritor reformar a língua
brasileira, diferenciado-a da portuguesa.
Alencar acreditava que a língua falada nas cidades, em especial na Corte,
ou estava sujeita a muitas influências estrangeiras17 ou “pagava tributo” a Portugal,
pois os escritores brasileiros consideravam apenas as normas gramaticais portuguesas
como critério para a boa e correta escrita. Já nos sertões, nesses espaços distantes da
civilização, segundo o Escritor, ainda se podia encontrar quase intacta uma língua, por
assim dizer, histórica, que foi submetida a longa aclimatação em terras brasileiras.
Essa língua falada pelo povo, diferente da língua falada em Portugal, deveria
subsidiar o estabelecimento de uma literatura nacional. Alencar se propôs tirar da
poesia popular sertaneja esses elementos à diferenciação e autenticidade da língua
brasileira.
Da poesia “O Rabicho da Geralda”, diz ter a sua disposição três versões, a
qual se acrescentou outra, enviada por um parente, obtida no Ouricuri. Já o “poemeto”
“Boi Espácio” apenas reteve três quadras e uma delas incompleta. O historiador
Capistrano de Abreu, que o auxiliou na coleta, enviou-lhe uma versão, mas Alencar
achou “consideravelmente truncada”.
Já com respeito a sua viagem ao Ceará, ele acentua haver encontrado um
velho, de mais de oitenta anos, o Sr. Felipe José Ferreira, “descendente do grande
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
Algodão (Amanai), contemporâneo do célebre Camarão (Poti)”. E ressalta serem estas
17 Na segunda metade do século XIX, o Brasil assistiu grandes correntes imigratórias de italianos, alemães,
espanhóis, estimulados pela política imigratória do II Reinado, que viam nos imigrantes europeus um elemento
civilizador. Essa política imperial é decorrente do receio das elites com o fim do tráfico e, consequentemente, o
da escravidão. Segundo pensavam nossas elites, terminada a escravidão, os negros não eram aptos para o
trabalho livre, o que criaria uma crise da mão de obra, sendo necessário o estímulo da imigração. Ver: COSTA,
Emília Viotti. Da senzala à Colônia. São Paulo: Brasiliense, 1989.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 125
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
“linhagens cearenses da nobreza indígena”18. Essa filiação do velho Felipe do Pici –
conhecido assim porque morava em um sítio próximo do Aronches, atual Parangaba –
não é gratuita. Alencar sempre ressaltava e valorizava os traços de nobreza de uma
raça indígena, extinta, na conformação de um passado glorioso para a Nação
brasileira. Esses personagens aparecem no “Argumento Histórico” de Iracema19. O fato
de o Sr. Felipe ser descendente de linhagens indígenas nobres corrobora o projeto
alencariano, consubstanciado na formulação de uma língua cuja base era a língua
portuguesa aclimatada no Brasil e a língua indígena de um tempo primitivo, anterior à
colonização. Nesse sentido, o escritor está em consonância com a visão das elites
intelectuais brasileiras no que diz respeito ao índio e sua linguagem. Segundo esses, os
indígenas eram um povo degenerado, sendo suas culturas consideradas bárbaras. Os
estudos linguísticos sobre os indígenas devem regressar a um tempo em que eles ainda
eram uma raça nobre e guerreira, pois o índio era considerado extinto20. A imagem
criada de uma raça indígena extinta – não verdadeira, pois ainda existiam muitos
índios não contatados no Brasil, além dos que perduraram dissolvidos na população
brasileira – faz parte, segundo Ivone Cordeiro Barbosa, de uma política de
apagamento das culturas indígenas21.
O velho Felipe era, na concepção romântica de Alencar, um meio para
acessar a sabedoria popular. Ele propicia um mergulho mais profundo na “multidão
18 ALENCAR. José de. op. cit., p. 970.
19 ALENCAR, José de. Iracema: lenda do Ceará. Rio de Janeiro, 1965. Edição do Centenário.
20 Kadama, em trabalho que analisa o discurso etnográfico sobre os indígenas na revista do IHGB, demonstrou
com clareza essas perspectiva das elites letradas com respeito aos indígenas. Parece contradição o fato de
considerar o indígena uma raça degenerada e, ao mesmo tempo, o erigir um símbolo da nacionalidade, na
verdade não era. O índio era valorizado como um ideal, como bem salienta José de Alencar, não
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
correspondendo a qualquer índio real, colocado no presente da escrita sobre suas culturas. Situados nesse
passado remoto, conforme Perrone Moyses, “os índios constituíam uma matéria romanesca e poética com
múltiplas vantagens: eram aquela origem mítica necessária a toda nação; eram nossa parte não-européia; já
quase exterminados, prestavam-se a todas as fantasias”. Ver: KADAMA, Kaori. Os Índios no Imperio do
Brasil: etnografia do IHGB entre as décadas de 1840 e 1860. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; São Paulo:
EDUSP, 2009; PERRONE-MOISÉS, Leyla. “Paradoxos do nacionalismo literário na América Latina”. In:
Estudos Avançados 11 (30), 1997. p. 250.
21 BARBOSA, Ivone Cordeiro. Sertão: um lugar (in)comum: o sertão do Ceará na literatura do século XIX. Rio
de Janeiro: Relume-Dumará; Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto do Estado, 2000.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 126
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
anônima”. Nesse sentido, o Sr. Felipe é considerado o repositório de um saber que
representa toda a alma do povo, a alma verdadeira, ingênua, primitiva, que serviria
como o espelho das nações. O fato de ele ter mais de 80 anos contempla o imaginário
romântico alencariano sobre a cultura popular. A ideia de que o avanço da civilização
e das cidades corromperia e degeneraria o povo fizera os românticos se embrenharem em
redutos pouco modificados pelo modo de vida moderno, e ali ouvir dos mais antigos,
histórias que já haviam se perdido. Eram cantos, contos, tradições e crenças que não se
encontravam mais pelas cidades. Segundo a mentalidade desses intelectuais, nas
cidades, só residiam a turba insana e o povo rude, que não sabem cantar nem contar
histórias. Michel de Certeau ensina que, para esses intelectuais, a cultura popular se
mostra sempre em extinção. Como lhes parecia inexorável o avanço do progresso e da
civilização, tratavam apenas de contemplar a cultura popular como uma herança
perdida, uma “beleza do morto”22. Conforme Renato Ortiz,
Não é a cultura das classes populares enquanto modo de vida concreto, que
suscita atenção, mas sua idealização através da noção de povo. O critério sócio-
econômico torna-se então irrelevante; interessa mapear os arquivos da
nacionalidade, a riqueza da alma popular. „Povo‟, significa um grupo homogêneo,
com hábitos mentais similares, cujos integrantes são os guardiães da memória
esquecida. Daí o privilégio pela compreensão do homem do campo. Entretanto, o
camponês não será apreendido na sua função social, ele apenas corresponde ao
que há de mais isolado da civilização23.
Por isso Alencar acentua: “este velho é um livro curioso. Aprendi mais com
ele, do que numa biblioteca, onde não encontraria as antigualhas que me contou.”24.
Pelo fato de não ser uma criação de um escritor erudito, mas de
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
proveniência popular, a poesia deveria ser corrigida e burilada pelo estudioso. Não
estava no norte intelectual de Alencar manter intacta a poesia popular e publicar tal
22 CERTEAU, Michel de. A beleza do morto. In: ______. A cultura no Plural. Campinas: Papirus, 1995.
23 ORTIZ, Renato. op. cit., p. 26.
24 ALENCAR. José de. O Nosso Cancioneiro. op. cit., p. 970.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 127
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
qual foi colhida da fonte. Esse método, denominado científico pelos intelectuais
posteriores a Alencar, foi introduzido no Brasil apenas na década de 1880, por Silvio
Romero25.
A preocupação central de Alencar, com respeito à poesia diretamente
colhida da boca do povo, era a de que ela serviria agora à apreciação de leitores
citadinos e civilizados. Identificadas certas rudezas e barbarias na poesia popular, o
romancista acreditava que, corrigindo-a, estaria prestando bons serviços à pátria.
Tendo em mão algumas versões coletadas, Alencar diz “tentar a difícil empresa de
refusão dessas várias rapsódias, adotando uma paciente restauração (...), processo
empregado por outros países para a compilação da poesia popular.”26. Mais adiante, o
escritor explica no que consiste esse método de estudo:
Na Apuração das cantigas populares, penso eu que se deve proceder de modo
idêntico a restauração dos antigos painéis. Onde o texto está completo é somente
espoá-lo e raspar alguma crosta que porventura lhe embote a cor ou desfigure o
desenho. Se aparecem seleções de continuidade provenientes de escaras de tinta
que se despegou da tela é preciso suprir a lacuna, mas a condição de restabelecer o
traço primitivo27.
Assim como os irmãos Grimm e Almeida Garret, nosso Autor interferia na
poesia popular, corrigindo os erros ortográficos e de sintaxe28. As grosserias e o mau
gosto do povo deveriam ser limados, de forma a não ofender o paladar delicado de seus
leitores. Não obstante, o ato corretivo deve evitar que a poesia perca sua aura de
25 MATTOS, Claudia Neiva de. Silvio Romero: a poesia popular na República das Letras. Rio de Janeiro:
FUNART; UFRJ, 1994.
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
26 ALENCAR. José de. O Nosso Cancioneiro. op. cit., p. 971.
27 Id., Ibidem. p. 971.
28 Nesse sentido, ver: ORTIZ, Renato. Op. Cit. Na verdade, o único estudioso citado por Alencar em O Nosso
Cancioneiro é o escritor português Almeida Garret, que havia escrito o livro Romanceiro, onde trata das
poesias e cantos de Portugal. Segundo Cristina Betiolli Ribeiro, a influência de Garret é dos estudiosos
alemães, sobretudo os irmãos Grimm. Daí a influência de Alencar ser advinda do pensamento alemão. Já o
termo folclore é mais tardio e foi criado pelo inglês William John Thoms, em 1838, e exerceu influência em uma
geração posterior a Alencar. Ver: RIBEIRO, Cristina Betioli. Um Norte para o romance brasileiro: Franklin
Távora entre os primeiros folcloristas. Tese de Doutorado. Campinas (SP): IEL/UNICAMP, 2008.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 128
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
originalidade e primitivismo. Essa é uma operação moralizadora e corretiva da cultura
popular. Ela deve ser depurada, pois só assim “prestará serviços às letras pátrias.”29.
Onde o meu ilustrado colega com o seu gosto delicado descobrir a sutura do
antigo texto com os retoques, é claro que o trabalho ficou imperfeito. Ou essa
costura provenha do refazimento ou de alguma corruptela, freqüentes nos versos
orais, a missão do compilador é apagá-la de modo que não fosse possível duvidar-
se da pureza da lição popular30.
A poesia popular exporia alguns “defeitos”, como anota Alencar. Estes são
provenientes de “alguma corruptela, frequentes nos versos orais”. As várias versões de
um mesmo poema possibilitavam restabelecer a originalidade da poesia e seu “traço
primitivo”. Essa operação explicita a visão de Alencar sobre a cultura popular. Ela
deve ser vista como tradição, e desta forma pouco passível de transformações e
mudanças. Ao deparar várias versões da poesia popular, que faz parte de uma cultura
oral dinâmica e viva, o autor simplesmente sugere a supressão dessas mutações,
procurando na escrita criar uma forma fixa e incorruptível.
Portanto, a concepção de José de Alencar acerca da poesia é também de
caráter espacial. Se posta no presente, a poesia popular é vista como submetida a um
processo de degradação, sendo necessário restituí-la em sua originalidade e encontrar
nesse tempo afastado a autenticidade da nação brasileira. Esse mesmo distanciamento
é expresso em termos espaciais. O autor acentua: “há muito que trato de coligir as
trovas originais que se cantam pelas cidades ainda, porém mais pelo interior.”31. E,
mais adiante:
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
Na infância dos povos, certas individualidades mais pujantes absorvem em si a
tradição de fatos praticados por indivíduos cujo nome se perde; e torna-se por
esse modo símbolo de uma idéia e de uma época. Com o incremento da civilização,
29 ALENCAR. José de. O Nosso Cancioneiro. op. cit., p. 972.
30 Id., Ibidem. p. 972.
31 Id., Ibidem. p. 962.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 129
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
que nivela os homens, debilita-se aquela tendência; e o mitologismo só aparece
nas latitudes onde não se dissiparam de todo a primitiva rudeza e a ingenuidade
do povo32.
Na visão de Alencar, o processo civilizatório, que se aprofunda no Brasil
no século XIX, tende a tornar as nações indistintas, apagando os seus traços peculiares
e impossibilitando de se desenvolverem como culturalmente autênticas. Existem,
contudo, espaços conservados intactos e distantes da civilização, onde ainda era
possível encontrar a “primitiva rudeza e ingenuidade do povo”.
Essa visão de um processo civilizatório decadente tem seu desdobramento
na retórica da positivação do país. A questão expressa pelo escritor cearense é a de
como o Brasil se posiciona diante de outras nações civilizadas. Diz José de Alencar:
“(...) a Providência havia preparado a América para a regeneração das raças exaustas
do velho mundo.”33. Aqui se instala o paradoxo entre a antiguidade do Velho Mundo e
a jovialidade das nações americanas. Se a Europa possuía um passado ancestral de
lendas e mitos que fundamentava a invenção das nações como entidades antigas, por
outro lado, o maior aprofundamento do processo civilizatório no Velho Mundo teve
como decorrência o fenecimento dessa era mítica. Já no Novo Mundo, em latitudes
distantes da civilização, ela ainda resistia. Desta forma, a uma civilização europeia
decadente e cansada, José de Alencar contrapõe uma América exuberante e pujante.
Estou convencido de que o nosso cancioneiro nacional é tão mais rico do que se
presume. Faltam-lhes sem dúvida o sabor antigo e o romantismo das formosas
lendas góticas e mouriscas, pois no Brasil nem a terra é velha, mas tem o sabor
pico e sobram-lhe em compensação o perfume de nossas florestas e o vigoroso
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
colorido da natureza, como do viver americano34.
32 Id., Ibidem. p. 978.
33 Id., Ibidem. p. 962.
34 Id., Ibidem. p. 962.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 130
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
A escolha das poesias “Rabicho da Geralda” e “Boi Espácio” justifica-se
porque são ilustrativas de um Brasil onde podem ser encontradas “certas
individualidades mais pujantes (que) absorvem em si a tradição de fatos praticados por
indivíduos cujo nome se perde”. Interessam a José de Alencar os atos de heroísmo e
destreza dos vaqueiros cantados pela poesia popular. Os poemas narram a história de
um boi selvagem, que se tornou famoso pelas suas proezas em resistir ao enlace dos
vaqueiros. Desgarrado das manadas, esse boi, alcunhado barbatão, tornou-se
coadjuvante de muitas histórias que corriam pelo sertão. O Autor imprime nos feitos
dos vaqueiros em laçar os bois características marcadamente mitológicas. E diz estar
“convencido de que os heróis das lendas sertanejas são mitos e resumem o entusiasmo
do vaqueiro pela raça generosa, companheira inseparável de suas fadigas, e próvida
mãe que o alimenta e veste.”35.
Os heróis e seus feitos imemoriais faziam parte desse complexo simbólico-
mitológico, basilar na imaginação das nações, e que tinha o épico como gênero por
excelência. Alencar parece estar por dentro dos debates travados entre os românticos
europeus, que constataram o fim da epopeia como um gênero da Modernidade. O
romance e a poesia lírica vinham tomar lugar daquele gênero, que se perdeu com o
declínio das sociedades antigas, baseadas em valores da honra, da guerra, de feitos
heróicos e imemoriais. Os românticos europeus afirmavam que o processo civilizatório
levara o fim dessa era de ouro, pois se baseava em valores racionais, pragmáticos e
materialistas36.
Desta forma, o autor defendia o argumento de que, sendo o Brasil um país
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
jovem, ainda se poderia encontrar em suas canções esse caráter épico, ha muito fenecido
na Europa. Ele chega a comparar a “magnanimidade dos nossos rústicos vates” à
epopeia homérica, com a diferença de que os nossos “rapsodos” engrandecem o boi, e
35 Id., Ibidem. p. 978.
36 Consultar: ABRAMS, M. H. Op. Cit.; WILLIAMS, Raymond. op. cit.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 131
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
não os troianos, como na Ilíada. A poesia popular brasileira era autêntica e diferente
de tudo o que se encontrava no Velho Mundo. Alencar supõe a semelhança da poesia
popular do Ceará apenas com os árabes, em razão de “analogias topográficas”. A
singularidade de nossas canções pastoris está no fato de elas não se revestirem na
forma de idílio, ou mesmo sentimento lírico: têm cunho épico. “São expansões, ou
episódios da eterna heróica do homem em luta com a natureza.”37. As “rudes bucólicas
cearenses”, como ele anota, em muito distam das que cantaram Teócrito e Virgílio, que
servem de molde para os pegureiros do Velho Mundo. Ao compará-la com outros
gêneros, como as xácaras, pelo fato ser “dialogadas entre interlocutores”, a poesia
popular brasileira se distingue pelo tom “épico e narrativo, sem ornatos líricos”.
Alencar também liga tais poesias ao que ele denomina “viver americano”. A
cinestesia da poesia popular pastoril, que se reveste de tons épicos, assumiu tais feições
porque se desenvolveu em condições naturais diferentes da europeia. Se não podemos
observar aqui uma concepção determinista do meio físico, como desenvolvido pela
geração de 1870, de certa forma, é possível entrever a idéia romântica do volk, ou
melhor, a noção de que o artista possui uma relação íntima com a terra em que vive.
Este, para ser verdadeiro, deve simbolizar a natureza e os costumes de seu lugar e de
seu povo. O romantismo elaborou essa teoria da representação artística como uma
crítica ao convencionalismo e formalismo do classicismo, que atribuía valor estético à
imitação das formas clássicas. Já os românticos defendiam a imitação da natureza e
dos costumes do povo como critérios valorativos da criação artística38. Com efeito, foi
essa visão romântica que deu subsídios à constituição de literaturas nacionais, pois, se
contrapondo ao universalismo clássico, advogou a originalidade das expressões
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
artísticas e sua particularização ligadas à nacionalidade. José de Alencar, nessa senda,
37ALENCAR. José de. O Nosso Cancioneiro. op. cit., p. 962.
38Nesse sentido ver: LIMA, Luis Costa. “O controle do imaginário”. In: ________. Trilogia do Controle.
Rio de Janeiro: Topbooks, 2007 e ABRAMS, M. H. op. cit.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 132
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
ao analisar as poesias pastoris, demandou a necessidade de apreender todo um modo de
vida do vaqueiro americano. Ele escreve:
O vaqueiro cearense achou-se em face de um sertão imenso, e de grande manadas
de gado, esparsas pelo campo. Esse sistema de criação, inteiramente diverso do
europeu, obrigava o homem a uma luta constante. Livre, tendo para esconder-se
brenhas impenetráveis, e o deserto onde refugiar-se, esse gado almargio, se não
era de todo selvagem, também não podia ser chamado doméstico. O vaqueiro,
forçado pelas condições do país a criá-los às soltas, tinha necessidade de domá-lo,
sempre que fosse possível amalhar as reses para a feira e outros misteres39.
Em contraste, portanto, com os costumes do vaqueiro europeu, em que a
vida repousa na “serenidade e candura”, os nossos vaqueiros se agitam em “entusiasmos
e comoções da luta, que lhe imprime antes um cunho cinegético.”40. Na Europa, como
nos faz ver Alencar, o gado era criado em espaços reduzidos ou confinados, o que
levava certa acomodação, uma lentidão, que faziam com que os cantos pastoris fossem
líricos. Mesmo na Espanha, nas touradas, o boi é “encerrado em um âmbito estreito,
assustado com a presença da multidão e a algazarra dos capinhas” e “não passa de um
vítima a imolar.” Em síntese, o autor defende a superioridade de nossas tradições
pastoris comparadas às europeias, pois elas têm vigor, energia, vivacidade, que
correspondem a uma nação jovem e promissora; uma Europa cansada versus uma
América pujante. Nesse sentido, os vaqueiros sertanejos são heróis, o que inexistia na
Europa, cuja era mítica havia de todo definhado.
Desta forma, José de Alencar realiza as duas operações que levantamos há
pouco: seleciona, em meio a uma ampla gama de manifestações populares, aquelas que
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
atendem ao seu projeto de formação da nacionalidade, positivando a natureza e os
costumes brasileiros. Sendo ainda a Europa o ponto de referência, ao redor da qual se
39 ALENCAR. José de. O Nosso Cancioneiro. op. cit., p. 963.
40 Id., Ibdem. p. 964.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 133
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
definem diferenças nacionais, comparar é outro recurso largamente utilizado pelo
autor.
Nessas cartas, o romancista anuncia: “todas essas cenas dos costumes
pastoris de minha terra natal, conto eu reproduzi-las com sua cor local, em um romance
de que apenas estão escritos os primeiros capítulos.”41. E José de Alencar cumpriu sua
promessa, publicando um ano depois o romance O Sertanejo.
O Nosso Cancioneiro alia Música e Literatura, na definição de um país
grandioso, jovem, pujante, autêntico, de um passado glorioso e exemplar. Alencar tinha
uma visão deveras otimista do Brasil. Em debate que travou com Pinheiro Chagas, um
filólogo português, que havia afirmado as transformações por que passava o Brasil
como uma decadência, ele retorquiu: “(...) ou se importa, como eu penso uma elaboração
para uma florescência, questão é que o futuro decidirá”. E continua: “Sempre direi que
seria uma aberração de todas as leis morais, que a pujante civilização brasileira, com
todos os elementos de força e grandeza, não aperfeiçoasse o instrumento das idéias, a
língua”42.
Considerações Finais
Retomando a palestra de Capistrano de Abreu, vemos que o autor não tem
o mesmo otimismo do escritor messejanense. Em sua análise sobre a literatura brasileira
contemporânea, o Abreu se põe a falar de Música e de dança. Acompanhemos o seu
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
pensamento sobre a importância do conto popular para a cultura brasileira:
A sua combinação com a dança tendeu a desenvolvê-la e a tornar o samba uma
das mais fiéis expressões do povo brasileiro Com efeito, o samba pertence-nos
41 Id., Ibdem. p. 962.
42 ALENCAR, José de. Pós-Escrito. In: _________. Iracema. Rio de Janeiro: José Olympio, 1965. p. 171.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 134
HISTÓRIA E CULTURAS DOSSIÊ
Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE
Diálogos sobre Artes
como os jogos olímpicos à Hélade e os gladiadores a Roma. Examinai-o, estudai-o
com simpatia, e vereis quanta luz se projeta sobre o caráter nacional os sons
melancólicos da viola, a inspiração cismarenta do cantador, as danças ora
tristonhas, ora indolentes, o ressumbrando no calambachiado do baião e no
sapateado do pesqueiro um não sei quê de vertiginoso e exaltado. Indolente e
exaltado, melancólico e nervoso, eis o povo brasileiro...43.
A passagem demonstra que a visão romântica ufanista de Alencar ia
perdendo terreno para outra, inspirada então no positivismo e nas idéias racialistas que
iam tomando conta do pensamento social brasileiro. Araripe Júnior, um dos principais
expositores do naturalismo no Brasil, subiu a serra da Aratanha e simplesmente
constatou que aquelas poesias épicas analisadas por Alencar não existiam mais44. Não
se justificava, portanto, esse entusiasmo fantasioso de nosso maior romântico.
As décadas posteriores foram marcadas por um acinzentado pessimismo
quanto ao caráter do povo brasileiro e as suas manifestações culturais. A Música, a
dança, a Literatura apenas reiteravam as ideias raciais evolucionistas, que viam na
mestiçagem brasileira o sinal de uma cultura degenerada, voluptuosa, bárbara,
incivilizada. Isso, é claro, com raras exceções45. O Brasil teve que esperar um bom
tempo, pelo menos até a década de 1920, para que o otimismo dos românticos se
tornasse hegemônico no pensamento social. A partir dali, o povo e sua cultura
passaram a ser novamente valorizados como um traço positivo de nossa personalidade.
Seção Artigos. ISSN: 2318-8294.
43 ABREU, Capistrano de. op. cit., p. 68.
44 ARARIPE JÚNIOR, T. “Cantos Populares do Ceará”. In: JÚNIOR, T.A. Obra crítica de Araripe Júnior.
Org. Afrânio Peixoto. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura; Casa de Rui Barbosa, 1958. V. I.
45 Em estudo sobre as representações do negro na literatura, de 1890 a 1920, as historiadoras Martha Abreu e
Carolina Dantas identificaram alguns autores que viam com certa positividade a influência da raça negra e
indígena na cultura brasileira, dentre eles Mello Morais Filho. ABREU, Martha e DANTAS, Carolina
Vianna. “Música Popular, Folclore e Nação no Brasil (1890-1920)”. In: CARVALHO, José Murilo de (org.).
Nação e Cidadania no Império: Novos Horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
História e Culturas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan.-jul. 2014. 135
Você também pode gostar
- Livro de Cordel LudocriarteDocumento48 páginasLivro de Cordel LudocriarteGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Questões 02 HistoriaDocumento3 páginasQuestões 02 Historiacanegro100% (1)
- Lista 06 Renascimento Cultural Aula 18Documento4 páginasLista 06 Renascimento Cultural Aula 18Camilly Cunha100% (1)
- Minha-lista-de-exercicio-Filosofia Ate Sofistas PDFDocumento13 páginasMinha-lista-de-exercicio-Filosofia Ate Sofistas PDFAndria CezarAinda não há avaliações
- HISTORIA - SILVA, Kalina Vanderlei-Dicionário de Conceitos HistóricosDocumento4 páginasHISTORIA - SILVA, Kalina Vanderlei-Dicionário de Conceitos HistóricosCristiane AquinoAinda não há avaliações
- Arte Colonial ManeirismoDocumento25 páginasArte Colonial ManeirismoAmon BeranniAinda não há avaliações
- Dossiê História e Usos de MídiasDocumento187 páginasDossiê História e Usos de MídiasRafael VieiraAinda não há avaliações
- Teodoro Teófilo - A Fome - ViolaçãoDocumento137 páginasTeodoro Teófilo - A Fome - ViolaçãoLucio Leonardi0% (1)
- Arte AfricanaDocumento1 páginaArte AfricanaShavon WareAinda não há avaliações
- O Modernismo Nas Decadas de 1930 e 1940 PDFDocumento14 páginasO Modernismo Nas Decadas de 1930 e 1940 PDFNeto SilvaAinda não há avaliações
- Arte RupestreDocumento48 páginasArte RupestreLINGUAGENS E CÓDIGOS LINGUAGENS100% (3)
- (FICH) LE GOFF, Jacques. Os Intelectuais Na Idade Média.Documento9 páginas(FICH) LE GOFF, Jacques. Os Intelectuais Na Idade Média.Mayara SaldanhaAinda não há avaliações
- FESTA DO DIVINO PAI ETERNO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO: Coletânea de fotos; fatos históricos do Distrito de Lagolândia; curiosidades sobre os 100 anos da festaNo EverandFESTA DO DIVINO PAI ETERNO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO: Coletânea de fotos; fatos históricos do Distrito de Lagolândia; curiosidades sobre os 100 anos da festaAinda não há avaliações
- Obras de Rui BarbosaDocumento136 páginasObras de Rui BarbosaRaimundo FilhoAinda não há avaliações
- Pré HistoriaDocumento86 páginasPré HistoriaMárcia Siqueira100% (1)
- Boletim de Ocorrência #931 - 187516 / 2022Documento1 páginaBoletim de Ocorrência #931 - 187516 / 2022Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- O Povo Dos Céus e Suas Profecias. Os Maias e Sua Escatologia - Um Breve Estudo Comparado.Documento13 páginasO Povo Dos Céus e Suas Profecias. Os Maias e Sua Escatologia - Um Breve Estudo Comparado.LeandroGamaESilvadeOmenaAinda não há avaliações
- A Literatura Cearense Os Bastidores de Sua HistoriaDocumento10 páginasA Literatura Cearense Os Bastidores de Sua HistoriaEvandro NettoAinda não há avaliações
- Bioma Cerrado e Bioma AmazôniaDocumento2 páginasBioma Cerrado e Bioma AmazôniaJames BondAinda não há avaliações
- Diálogo Sobre A Conversão Do Gentio, Manuel Da NóbregaDocumento19 páginasDiálogo Sobre A Conversão Do Gentio, Manuel Da NóbregaDiego LustosaAinda não há avaliações
- Conteudos de Arte.Documento11 páginasConteudos de Arte.Julio BatistaAinda não há avaliações
- A Literatura Vista de Baixo - MESTRADO EMANUEL GOMESDocumento101 páginasA Literatura Vista de Baixo - MESTRADO EMANUEL GOMESCarlos Fradique MendesAinda não há avaliações
- Apostila de SapateadoDocumento17 páginasApostila de SapateadoAnelisa Gregoleti100% (1)
- 2.artes - 2021 - Arte EgípciaDocumento55 páginas2.artes - 2021 - Arte EgípciaMelissa DomingosAinda não há avaliações
- Historia-Pre-Historia - Questões Não Usadas 1 07 2021Documento17 páginasHistoria-Pre-Historia - Questões Não Usadas 1 07 2021Kamarcos Bandeira100% (1)
- ENGELS, F - Ludwig Feuerbach e o Fim Da Filosofia Clássica AlemãDocumento33 páginasENGELS, F - Ludwig Feuerbach e o Fim Da Filosofia Clássica AlemãMurilo Morais De Oliveira100% (1)
- Uma Critica de Dança em Processo de Daniel TércioDocumento5 páginasUma Critica de Dança em Processo de Daniel TércioJoão Dos Santos MartinsAinda não há avaliações
- Cândido Costa. As Duas Américas (Lisboa, José Bastos, 1900)Documento372 páginasCândido Costa. As Duas Américas (Lisboa, José Bastos, 1900)David Marques100% (1)
- F. A. Pereira Da Costa e o Folklore Pernambucano: Escritas Da HistóriaDocumento10 páginasF. A. Pereira Da Costa e o Folklore Pernambucano: Escritas Da Históriakeli_ferraz4473Ainda não há avaliações
- A Confissão - Guy de MaupassantDocumento8 páginasA Confissão - Guy de MaupassantsjeovaniAinda não há avaliações
- Leonardo Da VinciDocumento4 páginasLeonardo Da VincilexxtAinda não há avaliações
- ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz De. História Regionall PDFDocumento12 páginasALBUQUERQUE JR., Durval Muniz De. História Regionall PDFJonas BritoAinda não há avaliações
- 6 Ano MesopotamiaDocumento32 páginas6 Ano MesopotamiaCássio GuimarãesAinda não há avaliações
- Os Primeiros Agrupamentos HumanosDocumento36 páginasOs Primeiros Agrupamentos HumanosAnonymous aAkUenAinda não há avaliações
- Historia Arte BahiaDocumento16 páginasHistoria Arte BahiaTainá MoraesAinda não há avaliações
- A Historiografia Da Arquitetura Brasileira No Século Xix e Os Conceitos de Estilo e TipologiaDocumento12 páginasA Historiografia Da Arquitetura Brasileira No Século Xix e Os Conceitos de Estilo e TipologiaPatrícia CruzAinda não há avaliações
- Rococó e NeoclassicaDocumento23 páginasRococó e NeoclassicaRayne Miyuki Dias KadookaAinda não há avaliações
- A Representação Da Mulher Nas Obras Literárias de João Ubaldo RibeiroDocumento7 páginasA Representação Da Mulher Nas Obras Literárias de João Ubaldo RibeiroManuel Sena CostaAinda não há avaliações
- ABREU, Waldomiro Benedito De. Ninguém Fundou PindamonhangabaDocumento11 páginasABREU, Waldomiro Benedito De. Ninguém Fundou PindamonhangabahungriacabralAinda não há avaliações
- Arte Bizantina PDFDocumento23 páginasArte Bizantina PDFmahelyAinda não há avaliações
- A Mesopotamia e Seus PovosDocumento60 páginasA Mesopotamia e Seus PovosPedro GomesAinda não há avaliações
- A Presença Do Mito Do Ouro Jesuíta No Sul Do BrasilDocumento10 páginasA Presença Do Mito Do Ouro Jesuíta No Sul Do BrasilraulnovascoAinda não há avaliações
- ROCA 2017-ÁGUA E AQUEDUTOS ROMANOS A ATUALIDADE 26.ppsxDocumento75 páginasROCA 2017-ÁGUA E AQUEDUTOS ROMANOS A ATUALIDADE 26.ppsxSolangeAlmeidaAinda não há avaliações
- Tabela - Antiguidade OrientalDocumento2 páginasTabela - Antiguidade Orientalfgonçalves_78299Ainda não há avaliações
- Lições de um ex-militante contra qualquer tipo de ditaduraNo EverandLições de um ex-militante contra qualquer tipo de ditaduraAinda não há avaliações
- 1 - Revista CâmarasDocumento391 páginas1 - Revista CâmarasThiago CláudioAinda não há avaliações
- Resenha Auto de São LourençoDocumento1 páginaResenha Auto de São LourençoRodrigo MendesAinda não há avaliações
- Barros, R.S.M. - A Ilustração Brasileira e A Ideia de Universidade (Cap 1,2,3)Documento53 páginasBarros, R.S.M. - A Ilustração Brasileira e A Ideia de Universidade (Cap 1,2,3)Jonas de Luca TrindadeAinda não há avaliações
- CONFLUÊNCIAS ENTRE ROCK, LITERATURA e ÓPERADocumento10 páginasCONFLUÊNCIAS ENTRE ROCK, LITERATURA e ÓPERAJh SkeikaAinda não há avaliações
- Aula 02 - Escolas Literárias PDFDocumento13 páginasAula 02 - Escolas Literárias PDFFran BarrosAinda não há avaliações
- História Metodologia MemóriaDocumento6 páginasHistória Metodologia MemóriaAndré de SáAinda não há avaliações
- Agricultura Nas Civilizações Incas Maias e AstecasDocumento3 páginasAgricultura Nas Civilizações Incas Maias e Astecaskanidia60% (5)
- ArcadismoDocumento43 páginasArcadismoMichele de OliveiraAinda não há avaliações
- Fichamento Do Texto "Religião Como Tradução" de Cristina PompaDocumento6 páginasFichamento Do Texto "Religião Como Tradução" de Cristina PompaLucas GesteiraAinda não há avaliações
- Simulado Sobre Renascimento Científico, Artístico e Cultural Concurso Professor de HistóriaDocumento3 páginasSimulado Sobre Renascimento Científico, Artístico e Cultural Concurso Professor de HistóriaAnonymous aPzoIa4Ainda não há avaliações
- Política Do BarrocoDocumento8 páginasPolítica Do BarrocoAndra Tish0% (1)
- A Expansão Territorial BrasileiraDocumento8 páginasA Expansão Territorial BrasileiraHenriqueAinda não há avaliações
- Roma 6º Ano 2019Documento34 páginasRoma 6º Ano 2019Paulo Gustavo Ribeiro SpinelliAinda não há avaliações
- Historia Contemporânea IDocumento5 páginasHistoria Contemporânea IAndre AdornoAinda não há avaliações
- O Movimento Tropicalista e A Revolucao EsteticaDocumento25 páginasO Movimento Tropicalista e A Revolucao EsteticaGladston PassosAinda não há avaliações
- E. P. Thompson No Brasil Recepção e Usos Antonio Luigi Negro PDFDocumento11 páginasE. P. Thompson No Brasil Recepção e Usos Antonio Luigi Negro PDFreginaAinda não há avaliações
- Entre a Igreja Católica e o Estado: D. José Afonso, o primeiro bispo ultramontano na Amazônia (1844-1857)No EverandEntre a Igreja Católica e o Estado: D. José Afonso, o primeiro bispo ultramontano na Amazônia (1844-1857)Ainda não há avaliações
- Fortaleza, 28 de Novembro de 2023 - SÉRIE 3 - ANO XV Nº222 - Caderno 3/3 - Preço: R$ 21,97Documento44 páginasFortaleza, 28 de Novembro de 2023 - SÉRIE 3 - ANO XV Nº222 - Caderno 3/3 - Preço: R$ 21,97Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- Breves Apontamentos Sobre A Pedagogia Crítica de Georges SnydersDocumento2 páginasBreves Apontamentos Sobre A Pedagogia Crítica de Georges SnydersGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Dissertação Josué RochaDocumento110 páginasDissertação Josué RochaGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- D Stern As Investigacoes Filosoficas deDocumento16 páginasD Stern As Investigacoes Filosoficas deGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- 7382-Texto Do Artigo-37266-1-10-20171031Documento11 páginas7382-Texto Do Artigo-37266-1-10-20171031Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- A BNCC para o CORDELDocumento1 páginaA BNCC para o CORDELGlauber Pinheiro100% (1)
- Wittgenstein e Os Jogos de LinguagemDocumento3 páginasWittgenstein e Os Jogos de LinguagemGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Dissertação Alexandre Santos RochaDocumento128 páginasDissertação Alexandre Santos RochaGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- A Construção Sociológica Da Juventude PDFDocumento27 páginasA Construção Sociológica Da Juventude PDFDrica CordeiroAinda não há avaliações
- Artigo Olhares para Literatura Popular 17868-68214-1-PBDocumento11 páginasArtigo Olhares para Literatura Popular 17868-68214-1-PBGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Anais de Leitura Na Eja 2020Documento19 páginasAnais de Leitura Na Eja 2020Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- Universidade Estadual de Santa Cruz Pró-Reitoria de Pesquisa E Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional - ProfletrasDocumento97 páginasUniversidade Estadual de Santa Cruz Pró-Reitoria de Pesquisa E Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional - ProfletrasGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- A Infância Sem Terra em Movimento Na Luta Por Escola, Terra e DignidadeDocumento30 páginasA Infância Sem Terra em Movimento Na Luta Por Escola, Terra e DignidadeGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Revistacordelii 090901214919 Phpapp02Documento49 páginasRevistacordelii 090901214919 Phpapp02Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- Cordeis Que Educam e Transformam 059Documento4 páginasCordeis Que Educam e Transformam 059Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- Plano de Aula Lpo8 03sqa08Documento4 páginasPlano de Aula Lpo8 03sqa08Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- Guia DeoVita 28 06Documento117 páginasGuia DeoVita 28 06Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- F11-M4 - Empreendedorismo (Solteiras)Documento16 páginasF11-M4 - Empreendedorismo (Solteiras)Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- Trabalho Ev043 MD1 Sa13 Id859 29062015153429Documento12 páginasTrabalho Ev043 MD1 Sa13 Id859 29062015153429Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- 7D9C7D21FADocumento1 página7D9C7D21FAGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Revista Educação Pública - Wittgenstein e Os Jogos de LinguagemDocumento3 páginasRevista Educação Pública - Wittgenstein e Os Jogos de LinguagemGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- BM 634632841333780000ped - Sociologia Da EducacaoDocumento74 páginasBM 634632841333780000ped - Sociologia Da EducacaoEmerson MacêdoAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento24 páginas1 PBGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Slides Oficiais Da Qualificação - 20 Dezembro 2022 AtualizadoDocumento21 páginasSlides Oficiais Da Qualificação - 20 Dezembro 2022 AtualizadoGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Catalogo Acervo CordelDocumento179 páginasCatalogo Acervo CordelGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Prefeitura Municipal de Morada NovaDocumento1 páginaPrefeitura Municipal de Morada NovaGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- PORTARIA N 187 DE 22 DE ABRIL DE 2021 - PORTARIA N 187 DE 22 DE ABRIL DE 2021 - DOU - Imprensa NacionalDocumento1 páginaPORTARIA N 187 DE 22 DE ABRIL DE 2021 - PORTARIA N 187 DE 22 DE ABRIL DE 2021 - DOU - Imprensa NacionalGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- 08.2019 - Reposio Eja Ef e emDocumento1 página08.2019 - Reposio Eja Ef e emGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira IV - Programa (2020)Documento8 páginasLiteratura Brasileira IV - Programa (2020)Fábio FerreiraAinda não há avaliações
- Lima LT DR SJRPDocumento230 páginasLima LT DR SJRPGiovani AngeloAinda não há avaliações
- Silvio RomeroDocumento73 páginasSilvio RomeroAntonio Carlos SousaAinda não há avaliações
- Filosofia Da História e Civilização em Sílvio RomeroDocumento12 páginasFilosofia Da História e Civilização em Sílvio RomeroErivan KarvatAinda não há avaliações
- 41) Costa ,: FILHO ODYLO Graça Aranha e Outros Ensaios. Rio e - D Janeiro 1934Documento10 páginas41) Costa ,: FILHO ODYLO Graça Aranha e Outros Ensaios. Rio e - D Janeiro 1934PedroAinda não há avaliações
- (PDF) As Relações Afetivas e A Esfera Da Intimidade em O Cortiço, de Aluísio AzevedoDocumento120 páginas(PDF) As Relações Afetivas e A Esfera Da Intimidade em O Cortiço, de Aluísio AzevedoAlberto Luiz Nunes de MatosAinda não há avaliações
- 20340-Texto Do Artigo-92911-1-10-20131016Documento10 páginas20340-Texto Do Artigo-92911-1-10-20131016Caio Miranda de Resende SilvaAinda não há avaliações
- Domício Da Gama e o Impressionismo Literário No Brasil - FB Sandanello PDFDocumento1.069 páginasDomício Da Gama e o Impressionismo Literário No Brasil - FB Sandanello PDFshinkazama359Ainda não há avaliações
- DownloadDocumento24 páginasDownloadWanderlei DoutoradoAinda não há avaliações
- 2019 Tese CrpinheiroDocumento333 páginas2019 Tese CrpinheiroLuciana BessaAinda não há avaliações
- 4 - SAMPAIO - Literatura No Ceara PDFDocumento160 páginas4 - SAMPAIO - Literatura No Ceara PDFRamon BezerraAinda não há avaliações
- A Imagem Do Sertão em José de Alencar - MartinsDocumento164 páginasA Imagem Do Sertão em José de Alencar - MartinsJoalisson MagiaverAinda não há avaliações
- ARARIPE JR. Tristão de Alencar. Estilo Tropical. A Fórmula Do Naturalismo BrasileiroDocumento7 páginasARARIPE JR. Tristão de Alencar. Estilo Tropical. A Fórmula Do Naturalismo BrasileiroRodrigoMachadoAinda não há avaliações
- Historiografia Da Literatura Brasileira AcízeloDocumento22 páginasHistoriografia Da Literatura Brasileira AcízeloTamberg CavalcanteAinda não há avaliações
- O Nosso Cancioneiro - Jose de Alencar. (Projeto Cordel)Documento19 páginasO Nosso Cancioneiro - Jose de Alencar. (Projeto Cordel)Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- João Adolfo Hansen - Um Nome Por Fazer (Completo) PDFDocumento75 páginasJoão Adolfo Hansen - Um Nome Por Fazer (Completo) PDFGuilherme PezzenteAinda não há avaliações
- Literatura Cearense - UFCDocumento3 páginasLiteratura Cearense - UFCIgor PinheiroAinda não há avaliações
- Afrânio Coutinho, Crítico e Historiador Da Literatura PDFDocumento198 páginasAfrânio Coutinho, Crítico e Historiador Da Literatura PDFGiovani SantosAinda não há avaliações
- Coleção Pajeú AldeotaDocumento93 páginasColeção Pajeú Aldeotamariohelderfilho100% (1)
- Celestino SachetDocumento14 páginasCelestino SachetIsabelaAinda não há avaliações
- Configuracoes Luso-Brasileiras - Livro N PDFDocumento341 páginasConfiguracoes Luso-Brasileiras - Livro N PDFLetícia Pimenta100% (1)
- Coelho Neto MiragemDocumento9 páginasCoelho Neto MiragemJade MagalhãesAinda não há avaliações
- A Realidade Da Ficção - Rodrigo EstramanhoDocumento111 páginasA Realidade Da Ficção - Rodrigo Estramanhos.h.e.yAinda não há avaliações