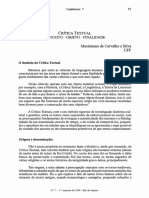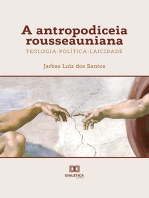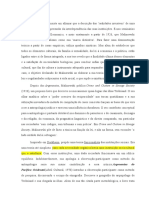Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Terminologia de Crítica Textual PDF
Terminologia de Crítica Textual PDF
Enviado por
Deyverson Dos Reis Souza BarbosaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Terminologia de Crítica Textual PDF
Terminologia de Crítica Textual PDF
Enviado por
Deyverson Dos Reis Souza BarbosaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Terminologia de Crítica Textual
(selecionado e adaptado de: http://www2.fcsh.unl.pt/invest/glossario/glossario.htm)
Arquétipo: na filologia lachmanniana, texto reconstituído como antepassado comum da
tradição textual, compreendendo as diferentes cópias, e que não se confunde com o original
perdido. A existência do arquétipo é demonstrável da seguinte forma: quando todos os
manuscritos do texto em análise contêm pelo menos um erro conjuntivo, sendo improvável
que dois (ou mais) copistas tenham cometido o mesmo erro separadamente.
Codex interpositus: códice perdido que pode ser reconstruído através da análise
comparativa da varia lectio. Pode ser o antepassado de todos os manuscritos da tradição
– e então coincide com o arquétipo – ou então pode ser apenas o antepassado de uma
família de testemunhos, e constitui por isso um subarquétipo.
Codex unicus: único códice que contém determinada obra, pelo que levanta sérios
problemas ao editor crítico.
Codices plurimi: múltiplos testemunhos de um texto, manuscritos ou impressos, de
existência muito frequente.
Colação: comparação (collatio codicum) de todos os testemunhos de um texto para
reconhecer todas as suas variantes. Operação necessária para a constituição do processo
genético (para os testemunhos autógrafos) ou do estema (para as tradições), ou para a
organização dos cadernos na bibliografia material.
Conjectura: correção introduzida no texto pelo editor, destinada a eliminar um erro ou
anomalia que se pode supor não serem devidos ao autor.
Constitutio textus: Operação pela qual se reconstitui a lição do arquétipo, mediante a
comparação e junção das partes consideradas boas existentes em lições de vários
manuscritos.
Contaminação: processo mediante o qual o amanuense procede a correções no texto do
modelo a partir do qual copia, pelo confronto com outros exemplares ou pela cópia de
variantes assinaladas na margem do modelo.
Correção (correctio; emendatio): operação de emenda feita por um revisor (no caso de
cópias manuscritas), ou por um editor, com vista a expurgar o texto de erros, lacunas ou
acrescentos nele introduzidos por outrem (nos testemunhos da tradição), ou de erros
óbvios da responsabilidade do próprio autor (nos autógrafos). As correções introduzidas
pelo editor crítico, de acordo com um modelo considerado bom, são devidamente
assinaladas e descritas no aparato crítico.
Crítica textual: disciplina que tem por objetivo reproduzir o texto na forma do original ou
equivalente (constitutio textus), eliminando para isso as intervenções espúrias da tradição
(quando se trata de textos antigos), ou, nos casos em que existam autógrafos e primeiras
edições (textos modernos), na forma que é definida pelo editor crítico como melhor
correspondendo à vontade do autor.
Divinatio: operação ligada à correção conjectural de passos anômalos ou em que o suporte
se apresenta gasto. Deve atender-se ao fato de as anomalias poderem ser resultado de
corruptela ou de alteração estilística voluntária do autor. É necessário, portanto, equilibrar
o uso dos dois princípios base: usus scribendi e lectio difficilior. Critérios para o uso
da divinatio são: 1) leis gerais da psicologia da cópia; 2) condições culturais e linguísticas
da época através da qual passa a tradição manuscrita em causa.
Edição: [1] qualquer cópia de um livro feita a partir de uma mesma composição
tipográfica, incluindo todas as impressões, tiragens e estados daí resultantes. [2] Conjunto
de operações filológicas necessárias para escolher, fixar e anotar um texto, inédito ou édito,
preparando-o para publicação num determinado circuito de leitura – isto é, para o oferecer
a um tipo caracterizado de leitor.
Edição autêntica: a lição do original. Sempre que num dado lugar de uma tradição os
vários testemunhos apresentem lições variantes entre si, é autêntica a que corresponde à
do original, sendo as restantes inautênticas.
Edição crítica: reprodução do texto do autógrafo (quando existente) ou do texto
criticamente definido (pela operação de constitutio textus) como mais próximo do original
(quando este não existe), depois de submetido às operações de recensão (recensio),
colação (collatio), definição do estema com base na interpretação das variantes
(estemática), definição do testemunho base, elaboração de critérios de transcrição e de
correcção (emendatio ope codicum ou emendatio ope ingenii). Todas estas operações
devem ser devidamente justificadas e explicadas (annotatio), e todas as intervenções do
editor, com realce para as lições não adotadas (do original ou dos testemunhos da
tradição), devem ser registradas no aparato crítico.
Eliminação: operação que consiste em pôr de parte elementos da tradição desprovidos de
valor enquanto testemunhos: ou porque são cópia de um exemplar conservado ou
reconstituível sem o seu contributo (eliminatio codicum descriptorum), ou porque
constituem lições dos testemunhos mais afastados do arquétipo, da responsabilidade do
amanuense e, por isso mesmo, inúteis para a reconstituição do original (eliminatio
lectionum singularium).
Emendatio: operação mediante a qual se corrige a lição de um texto. A emendatio pode
ser ope codicum ou ope ingenii. No primeiro caso, resulta do estudo comparativo dos vários
manuscritos disponíveis. No segundo, a correção é conjectura: resulta da divinatio. Hoje,
considera-se que só é aconselhável recorrer à divinatio quando os resultados da recensio
são manifestamente insuficientes para a reconstituição do texto. A emendatio ope codicum
baseia-se na lei do maior número e no cálculo das probabilidades.
Erro: qualquer desvio em relação à lição original. Visto que se trata de uma inovação, é o
principal elemento que atesta o agrupamento dos códices que reproduzem uma mesma
obra em famílias de manuscritos. É claro que os erros de autor, as adiáforas e algumas
lições características não podem ser usadas para esse efeito. Só os erros significativos
devem servir para isso, por apresentarem os seguintes requisitos: devem ser erros próprios
de dois ou mais manuscritos – erros conjuntivos; devem ser erros impossíveis de eliminar
por conjectura – erros separativos. Se o editor não conseguir encontrar erros significativos,
não pode, com certeza, estabelecer o stemma. Para demonstrar a existência do arquétipo,
basta um erro conjuntivo na tradição manuscrita.
Erro conjuntivo: erro comum a dois ou mais testemunhos do mesmo texto e que nunca
poderiam ter sido cometidos se fossem independentes um do outro; a sua ocorrência
pressupõe a existência de, pelo menos, um outro testemunho intermediário.
Erro separativo: erro detectado num testemunho mas não em outro do mesmo texto, e
que não poderia ter sido corrigido pelo copista, o que leva a concluir tratar-se de
testemunhos independentes entre si.
Estema (stemma codicum): esquema que representa a relação hierárquica dos
testemunhos da tradição. Obtém-se depois de, feita a colação, se ter procedido ao
encadeamento dos testemunhos e se ter definido a relação de conexão e de derivação entre
eles. Num estema, os testemunhos conhecidos são representados por letras romanas e os
desconhecidos e conjecturados por letras gregas.
Estemática: registo, classificação e interpretação das variantes dos testemunhos da
tradição, com vista a definirem-se as relações hierárquicas (descendentes, ascendentes ou
colaterais) entre eles, e a reconstituir-se o processo de transmissão; culmina no estema.
Examinatio: operação que consiste em estabelecer se, numa tradição com dois ramos
definidos a partir de duas variantes, uma ou nenhuma destas é original.
Família: conjunto de manuscritos que derivam de um mesmo ascendente ou codex
interpositus (quer seja arquétipo ou subarquétipo), diferente de outro conjunto de
manuscritos. A existência de uma família de manuscritos é atestada pela presença de um
ou mais erros significativos em todos eles.
Interpretatio: este termo designa, habitualmente, duas operações diversas: [1]
aclaramento do texto através da separação das palavras e dos parágrafos, das letras iniciais
maiúsculas, etc.; [2] valoração do peso ou do significado das lições singulares e das
variantes de autoridade estemática semelhante.
Lachmanniano (método): procedimento de preparação e de composição de uma edição
crítica que foi construído a partir dos trabalhos de Karl Lachmann na primeira metade do
séc. XIX. Os seus passos mais importantes consistem na recensão dos testemunhos, na
construção de um estema a partir dos erros conjuntivos e separativos presentes na
tradição, e na produção de um texto compósito, com base nos testemunhos mais
autorizados (ou mais altos no estema). O objetivo é aproximar-se o mais possível do
original perdido.
Lectio difficilior: lição atestada (ou conjectura) que se distinga de todas as outras lições
atestadas (ou de todas as outras conjecturas) por causa do seu grau de dificuldade ou
raridade do ponto de vista morfológico, semântico ou lexical. É um dos critérios do usus
scribendi usados na selectio. O editor crítico tenderá a preferir a lectio difficilior, dado
entender-se que deverá estar mais próxima do original, pois se pressupõe que, por ser rara
e difícil, os copistas a tenham reproduzido com mais atenção, havendo tendência para
conservá-la na tradição.
Lectio facilior: lição errada resultante da reinterpretação de uma lição menos comum por
analogia com outra mais comum e que lhe é semelhante na forma. Por exemplo, eteridade
> eternidade.
Lição: conteúdo de um lugar do texto em qualquer dos seus testemunhos; pode ser
substantiva (palavras ou frases) ou adjetiva – acidental na teoria do copy-text de Greg –
(sinais de pontuação e capitalização, por exemplo). Os conceitos de lição e de variante são
relativos e válidos apenas quando se compara um manuscrito com outros. Uma variante
existe na medida em que difere da lição de outro manuscrito.
Lugar de variação: lugar do texto cuja lição varia entre dois ou mais testemunhos da
tradição.
Recensão (recensio): estudo da tradição manuscrita ou impressa de uma dada obra. Tal
estudo consiste na análise comparativa das varia lectio quando a obra foi transmitida por
vários manuscritos. Se a tradição apenas contém um códice, é o escrutínio pontual e
rigoroso do único manuscrito que se possui. A recensio, no primeiro caso, pode levar à
constituição do estema.
Recensão fechada: quando não é contaminada e quando a lição do arquétipo (ou do
original) é reconstruível com base nas leis do maior número, isto é, quando se torna
possível construir o estema com precisão suficiente para se tirarem conclusões.
Recensão aberta: quando é contaminada e quando as lições concorrentes são adiáforas
e, portanto, não é possível aplicar a lei do maior número.
Regularização: operação que consiste em uniformizar, submetendo-as ao mesmo critério,
as alternâncias verificadas no interior de um mesmo paradigma gráfico; por exemplo,
reduzir a alternância «v / u» a «v» numa edição não diplomática de um texto medieval.
Restitutio textus: operação mediante a qual se reconstitui o texto presumivelmente mais
próximo do original. Esta operação, quando a tradição compreende mais do que um
manuscrito, cumpre-se, em geral, com a ajuda do stemma e comporta operações
suplementares de examinatio.
Selectio: operação que consiste em escolher, entre diversas tradições de igual valor
estemático, aquela que é suficiente para reconstituir o original, compreendendo: 1) seleção
entre adiáforas ou variantes de natureza diversa, em relação às quais é impossível decidir
recorrendo apenas a critérios mecânicos; 2) escolha entre várias conjecturas igualmente
possíveis; neste caso, recorre-se quase sempre ao princípio do usus scribendi e da lectio
difficilior.
Testemunho: manuscritos ou impressos que transmitem a obra. Designa o exemplar de
um texto com todas as características próprias: suportes, lições, variantes.
Texto-base (copy-text): é o texto do testemunho adotado na edição crítica, ou seja,
aquele cujas lições não passam, em caso de variação, para o aparato crítico. Deve ser
adotado como tal o texto do manuscrito do autor ou, na sua falta, o testemunho não
autógrafo que lhe esteja mais próximo. Para Greg, sempre que não exista manuscrito
autógrafo, o texto-base deve ser o da edição mais antiga de uma tradição de edições
impressas, tanto nos seus aspectos substantivos (palavras) como nos acidentais
(pontuação, capitalização, união e separação de palavras, abreviaturas, etc., que são por
regra normalizados pelo tipógrafo de edição para edição). No entanto, é reservado ao editor
o direito de emendar o texto a partir de outro testemunho que pontualmente considere
melhor.
Textus receptus: texto da edição corrente aceite pela maioria dos editores, sem atender
à qualidade das lições.
Tradição: totalidade dos testemunhos, manuscritos ou impressos, conservados ou
desaparecidos em que um texto se materializou ao longo da sua transmissão. Pode indicar
dois conceitos diferentes: 1) conjunto de lições que caracterizam um manuscrito ou família
de manuscritos; 2) conjunto de testemunhos de uma obra, sejam eles manuscritos ou
impressos. Se apenas se conhece um testemunho, diz-se que é uma tradição de
testemunho único; se se conhecem dois ou mais, diz-se que é uma tradição de testemunho
duplo ou múltiplo. A tradição pode ser direta ou indireta. O primeiro caso compreende os
manuscritos e as edições impressas em que a obra se conserva; o segundo compreende as
citações, as traduções e todas as outras atestações de segunda mão.
Usus scribendi: conjunto dos hábitos gramaticais e estilísticos de um escritor, de uma
escola ou de uma época. É considerado nas tomadas de decisão do editor crítico, ou para
fazer conjecturas em situação de erro ou de lacuna, ou para escolher entre variantes
documentadas em diferentes testemunhos. É um dos critérios, junto com a lectio difficilior,
normalmente usados para arbitrar em caso de lições de igual autoridade documentária.
Variante adiáfora: diz-se, no momento da constitutio textus, da lição ou variante que
resulta de um erro invisível ou que faz sentido, e em relação à qual, recorrendo à ajuda
do stemma, do usus scribendi e da lectio difficilior, é impossível decidir se está menos ou
mais certa que outra.
Você também pode gostar
- Tabela - FloralDocumento2 páginasTabela - FloralGabriel Gaspar Bike FitAinda não há avaliações
- Os 5 Segredos Das Mulheres Felizes No Casamento - Josué Gonçalves 28Documento62 páginasOs 5 Segredos Das Mulheres Felizes No Casamento - Josué Gonçalves 28Fernanda ProfessoraAinda não há avaliações
- A Linguagem Das FloresDocumento5 páginasA Linguagem Das FloresLopso MulorAinda não há avaliações
- Portugues para PRF - Nova ConcursosDocumento122 páginasPortugues para PRF - Nova ConcursosMichelly Soares100% (1)
- Historia Do Japao - Emiliano Unzer PDFDocumento91 páginasHistoria Do Japao - Emiliano Unzer PDFPriscila J LimaAinda não há avaliações
- A MoratóriaDocumento148 páginasA MoratóriaPriscila J LimaAinda não há avaliações
- O Arco da Literatura: Das Teorias às LeiturasNo EverandO Arco da Literatura: Das Teorias às LeiturasAinda não há avaliações
- Fichas de Coesão e CoerênciaDocumento8 páginasFichas de Coesão e CoerênciaSérgio AlvesAinda não há avaliações
- Manual Da QualidadeDocumento66 páginasManual Da QualidadePaulo MargalhauAinda não há avaliações
- Exegese - Marcio Tenponi PachecoDocumento143 páginasExegese - Marcio Tenponi PachecoMarcio Tenponi100% (1)
- Leitura - Texto - IntertextualidadeDocumento10 páginasLeitura - Texto - IntertextualidadedominguinhasAinda não há avaliações
- Uma Introdução Aos Princípios Da Moral e Da LegislaçãoDocumento67 páginasUma Introdução Aos Princípios Da Moral e Da LegislaçãoLeandro Ferri Fabro100% (3)
- Fatores de CoerênciaDocumento14 páginasFatores de CoerênciaPamela M San100% (5)
- Martin Heidegger - Super ResumoDocumento3 páginasMartin Heidegger - Super ResumoJosé Hiroshi Taniguti100% (2)
- Leitura Diacrônica Da Bíblia 1Documento13 páginasLeitura Diacrônica Da Bíblia 1Fernando Kelly Brito100% (1)
- 6 Mecanismos de Coesao e Coerencia TextuaisDocumento10 páginas6 Mecanismos de Coesao e Coerencia TextuaisXibatudo EcléticoAinda não há avaliações
- Coesão e Coerência - ÓtimoDocumento10 páginasCoesão e Coerência - ÓtimoRafaelNascimentoAinda não há avaliações
- 10.1. Prototipos TextuaisDocumento4 páginas10.1. Prototipos TextuaisPedro FiladelfoAinda não há avaliações
- Texto e ContexoDocumento15 páginasTexto e ContexoLuizAinda não há avaliações
- Glossário de Crítica TextualDocumento17 páginasGlossário de Crítica TextualmarconcelosAinda não há avaliações
- Glossário de Crítica TextualDocumento21 páginasGlossário de Crítica TextualDiony González Rendón100% (1)
- Lachman Nia NoDocumento12 páginasLachman Nia Nofabiofrohwein7383Ainda não há avaliações
- Base Teórica Da Crítica TextualDocumento9 páginasBase Teórica Da Crítica TextualCarlos LimaAinda não há avaliações
- Edicao Critica de Musica Glossario DocumDocumento4 páginasEdicao Critica de Musica Glossario DocumTiago SousaAinda não há avaliações
- Dicionario de Termos Da Critica Textual e Da FilologiaDocumento2 páginasDicionario de Termos Da Critica Textual e Da FilologiaFernanda PortoAinda não há avaliações
- 6 Mecanismos de Coesao e Coerencia TextuaisDocumento10 páginas6 Mecanismos de Coesao e Coerencia TextuaisDaniela Lourenço100% (1)
- O Trabalho Filológico Por Karl LachmannDocumento2 páginasO Trabalho Filológico Por Karl LachmannFernanda PercantAinda não há avaliações
- As Bases Teóricas Da Crítica Textual - História e Contribuições (Araujo - Artigo)Documento7 páginasAs Bases Teóricas Da Crítica Textual - História e Contribuições (Araujo - Artigo)Jorge LuizAinda não há avaliações
- Redação - para Concursos MilitaresDocumento82 páginasRedação - para Concursos MilitaresLuigi EmanuelAinda não há avaliações
- Etapas Do Trabalho FilológicoDocumento3 páginasEtapas Do Trabalho FilológicoRafael Berg100% (1)
- 18 MaximianoDocumento7 páginas18 MaximianoFernanda PortoAinda não há avaliações
- A Crítica Textual e Os Tipos de EdiçãoDocumento56 páginasA Crítica Textual e Os Tipos de EdiçãoGilmara FerreiraAinda não há avaliações
- A Repetição Na Lingua PortuguesaDocumento21 páginasA Repetição Na Lingua PortuguesaAnderson RangelAinda não há avaliações
- Crítica Textual - Manual Critica-Textual-pdf-100Documento1 páginaCrítica Textual - Manual Critica-Textual-pdf-100Alexandria NovaAinda não há avaliações
- Glossario de TraducaoDocumento38 páginasGlossario de TraducaoFilipe SilvaAinda não há avaliações
- Queiroz (Org) - Glossário de Termos de Edição PDFDocumento28 páginasQueiroz (Org) - Glossário de Termos de Edição PDFMário ViníciusAinda não há avaliações
- O Conceito - Lectio DifficiliorDocumento14 páginasO Conceito - Lectio DifficiliorCarpestudiumAinda não há avaliações
- Fátima. Modelos Pancrônicos de Descrição LinguísticaDocumento13 páginasFátima. Modelos Pancrônicos de Descrição LinguísticaThiago SilvaAinda não há avaliações
- Artigo Acadêmico Coesão Sequencial/sequenciação FrásticaDocumento10 páginasArtigo Acadêmico Coesão Sequencial/sequenciação FrásticaDaniel TorresAinda não há avaliações
- Introdução À Crítica Textual - Cambraia, 2005Documento11 páginasIntrodução À Crítica Textual - Cambraia, 2005Mariana RochaAinda não há avaliações
- Expressão Regular PDFDocumento10 páginasExpressão Regular PDFDixonMarinhoAinda não há avaliações
- Expressão Regular PDFDocumento10 páginasExpressão Regular PDFDixonMarinhoAinda não há avaliações
- Implementação de DFAs e ENFAs Configuráveis em JavaDocumento8 páginasImplementação de DFAs e ENFAs Configuráveis em JavaEduardo FernandesAinda não há avaliações
- Páginas de REDAÇÃO CIENTÍFICADocumento9 páginasPáginas de REDAÇÃO CIENTÍFICAkukabouaAinda não há avaliações
- Dialnet GramaticaETextoTextoEGramatica 7962212Documento22 páginasDialnet GramaticaETextoTextoEGramatica 7962212Jackson Cicero França BarbosaAinda não há avaliações
- Trabalho de MeritoDocumento11 páginasTrabalho de MeritoSimon AdelinoAinda não há avaliações
- ApocalipseDocumento14 páginasApocalipseAltair AlvesAinda não há avaliações
- Sistema SemioticoDocumento8 páginasSistema SemioticoSaíde HassanAinda não há avaliações
- Fichamento Do Artigo A Filologia e Seu ObjetoDocumento3 páginasFichamento Do Artigo A Filologia e Seu ObjetoElisson Lopes BritoAinda não há avaliações
- Resumir Um Texto PDFDocumento9 páginasResumir Um Texto PDFsoniaspmbAinda não há avaliações
- Resumo - Unidade IVDocumento2 páginasResumo - Unidade IVRubens JuniorAinda não há avaliações
- Coerencia e CoesaoDocumento32 páginasCoerencia e CoesaoalandeniylsonAinda não há avaliações
- Crítica Textual - Manual Critica-Textual-pdf-116Documento1 páginaCrítica Textual - Manual Critica-Textual-pdf-116Alexandria NovaAinda não há avaliações
- Tipo, Género E Espécie de Texto para Uma Classificação Textual Relevante para A TraduçãoDocumento18 páginasTipo, Género E Espécie de Texto para Uma Classificação Textual Relevante para A TraduçãoJulioalfredo AlfredoAinda não há avaliações
- Alguns Problemas Da Edição Crítica (Tavani 1990 - Artigo)Documento14 páginasAlguns Problemas Da Edição Crítica (Tavani 1990 - Artigo)Jorge LuizAinda não há avaliações
- Poética Da Tradução - Do Sentido À SignificânciaDocumento10 páginasPoética Da Tradução - Do Sentido À SignificânciaJulianaBilhalvaAinda não há avaliações
- Crítica Textual e Edição de TextosDocumento11 páginasCrítica Textual e Edição de TextosAlex EliasAinda não há avaliações
- A Competência 4 Da Redação Do Enem Avalia A Construção Coesiva Do TextoDocumento3 páginasA Competência 4 Da Redação Do Enem Avalia A Construção Coesiva Do TextoofficialevellyaquinAinda não há avaliações
- O Lugar Comum No DiscursoDocumento6 páginasO Lugar Comum No DiscursoEspecialização Em Libras Fatern-EstácioAinda não há avaliações
- LINGUISTICA TEXTUAL-Sintese (Revisao Alunos)Documento17 páginasLINGUISTICA TEXTUAL-Sintese (Revisao Alunos)Tami SantosAinda não há avaliações
- Trabalho 1 - NP1 - João VitorDocumento3 páginasTrabalho 1 - NP1 - João Vitorjoaociodaro9Ainda não há avaliações
- Tarallo - Por Uma Sociolinguística Românica Paramétrica - LeituraDocumento33 páginasTarallo - Por Uma Sociolinguística Românica Paramétrica - LeituraAmanda Dos Reis SilvaAinda não há avaliações
- 2017 Capliv MhtorresDocumento21 páginas2017 Capliv MhtorresMariana FreitasAinda não há avaliações
- Dicionario de Semiotica PrefacioDocumento4 páginasDicionario de Semiotica PrefacioMarina Miron PanciarelliAinda não há avaliações
- A Linguística no Texto: três análises focadas no texto e na coesão, nas sequências textuais e nos gêneros textuaisNo EverandA Linguística no Texto: três análises focadas no texto e na coesão, nas sequências textuais e nos gêneros textuaisAinda não há avaliações
- A antropodiceia rousseauniana: teologia-política-laicidadeNo EverandA antropodiceia rousseauniana: teologia-política-laicidadeAinda não há avaliações
- A Rosa Do Povo - John GledsonDocumento24 páginasA Rosa Do Povo - John GledsonPriscila J LimaAinda não há avaliações
- PERRONE-MOISÉS, Leyla. O Vácuo-Pessoa PDFDocumento21 páginasPERRONE-MOISÉS, Leyla. O Vácuo-Pessoa PDFPriscila J LimaAinda não há avaliações
- Resenha Roberto Rev Urb LefebvreDocumento5 páginasResenha Roberto Rev Urb LefebvreRoberto Cabral JuniorAinda não há avaliações
- Edital - Apresentação de TCCDocumento21 páginasEdital - Apresentação de TCCMarco OlivettoAinda não há avaliações
- Mente MeditativaDocumento1 páginaMente MeditativaDudaji José CardosoAinda não há avaliações
- CatitimiaDocumento1 páginaCatitimiaJosé Mayer0% (2)
- 2 04 Metodologia-De-Projetos PDFDocumento22 páginas2 04 Metodologia-De-Projetos PDFErnani MartinsAinda não há avaliações
- Sessão Dos GraduandosDocumento52 páginasSessão Dos GraduandosNarizinho JosianeAinda não há avaliações
- Adorno, TH., ResignaçãoDocumento6 páginasAdorno, TH., ResignaçãoAlberto SartorelliAinda não há avaliações
- Disciplina: Introdução A Metafísica 1 Guido Imaguire URFJ 18.2Documento4 páginasDisciplina: Introdução A Metafísica 1 Guido Imaguire URFJ 18.2Rodrigo NascimentoAinda não há avaliações
- Guia Dos Relacionamentos PDFDocumento104 páginasGuia Dos Relacionamentos PDFCharles Ricardo RodriguesAinda não há avaliações
- Organismo SocialDocumento5 páginasOrganismo Socialpipocp1110Ainda não há avaliações
- Avaliação Institucional Av1Documento4 páginasAvaliação Institucional Av1Elmo Cezário PereiraAinda não há avaliações
- Averdade Ed174Documento30 páginasAverdade Ed174Paulo SimbeAinda não há avaliações
- As Melhores Cantadas Românticas E InfalíveisDocumento2 páginasAs Melhores Cantadas Românticas E Infalíveisdisagreeablerou70Ainda não há avaliações
- Plano Ensino Seminario IntermidiaticoDocumento11 páginasPlano Ensino Seminario IntermidiaticoThiago SantiagoAinda não há avaliações
- Comunicação EstratégicaDocumento21 páginasComunicação EstratégicaTatiana DinisAinda não há avaliações
- Meios de ComunicaçãoDocumento31 páginasMeios de ComunicaçãoElielma CostaAinda não há avaliações
- Cheiro de Livro Nacional Wattpad Eu Leio, Eu Indico!Documento3 páginasCheiro de Livro Nacional Wattpad Eu Leio, Eu Indico!Claudia Vieira SousaAinda não há avaliações
- Pienso, Luego Creo La Teoria Makuna Del Mundo PDFDocumento5 páginasPienso, Luego Creo La Teoria Makuna Del Mundo PDFManuelEduardoAndradePalmaAinda não há avaliações
- Ficha Controle Entrega Convalidacao Atividade ComplementarDocumento1 páginaFicha Controle Entrega Convalidacao Atividade ComplementarJefersonSalcedesAinda não há avaliações
- Gaiola EmocionalDocumento2 páginasGaiola EmocionalSantana Glícia MaiaAinda não há avaliações
- TAI Consultoria em Talentos Humanos e Qualidade - Neuro-CrônicasDocumento6 páginasTAI Consultoria em Talentos Humanos e Qualidade - Neuro-CrônicasInes CozzoAinda não há avaliações
- Bibliografia - Língua e Cultura - Fronteira PDFDocumento389 páginasBibliografia - Língua e Cultura - Fronteira PDFmandoraAinda não há avaliações
- MALINOWSKI - Crime and Custom in Savage SocietyDocumento3 páginasMALINOWSKI - Crime and Custom in Savage SocietySetor Financeiro 21º GACAinda não há avaliações
- LivroDocumento145 páginasLivroDenise TavaresAinda não há avaliações