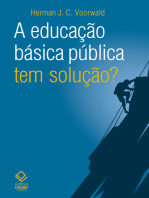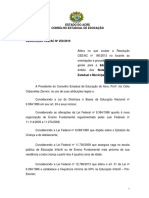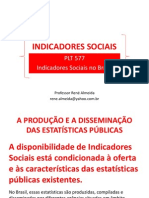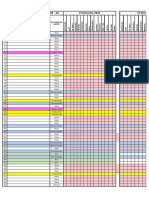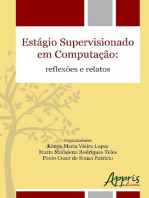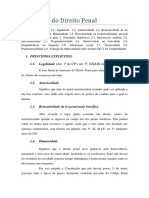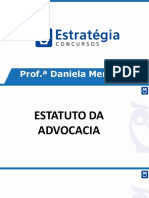Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Guia Prático Da Política Educacional No Brasil Ações, Planos, Programas e Impacto PDF
Guia Prático Da Política Educacional No Brasil Ações, Planos, Programas e Impacto PDF
Enviado por
Livia LeiteTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Guia Prático Da Política Educacional No Brasil Ações, Planos, Programas e Impacto PDF
Guia Prático Da Política Educacional No Brasil Ações, Planos, Programas e Impacto PDF
Enviado por
Livia LeiteDireitos autorais:
Formatos disponíveis
RESENHA
Guia Prático da Política
Educacional no Brasil
por Valdoir Pedro Wathier*
N
os estudos de políticas públi-
cas de educação, ainda se busca
consolidar base teórica que per-
mita aos diversos atores envolvidos com a edu-
cação a apropriação de conhecimentos mínimos
para compreender a malha de instituições que
se articulam no provimento da educação básica
e no compromisso de garantir a universalização
e parâmetros mínimos de qualidade. Progressi-
vamente, multiplicam-se os textos oficias, nor-
mativos ou propositivos; tornam-se abundantes
os dados disponíveis sobre valores destinados
à educação, índices de matrícula, aprovação,
evasão; são ampliados os instrumentos de ava-
liação e divulgados resultados múltiplos. Não
faltam elementos específicos para se discutir,
analisar, emitir prospectos. Contudo, as múl-
tiplas interpretações que emergem dessa vasta
gama de fontes - se desprovidas de uma visão
ampliada das políticas educacionais no Brasil -
podem se mostrar simplementes inverossímeis,
levar a conclusões vazias de sentido ou a pro-
postas inexequíveis em sua origem, o que onera
as discussões sobre educação, sem orientá-las.
mas, impactos, 2ª Edição ampliada e revisada,
No entendimento de que a qualidade da
publicada pela CENGAGE Learning, em 2014,
atuação de gestores e educadores é fortalecida
São Paulo/SP. Obra de Pablo Silva Machado Bis-
quando melhor se compreende o universo no
po dos Santos, cuja proposta é exatamente abor-
qual essa atuação está inserida, em suas diversas
dar as políticas educacionais sob suas multiface-
nuances, tratamos aqui do Guia Prático da Polí-
tadas dimensões.
tica Educacional no Brasil: ações, planos, progra-
* Valdoir Pedro Wathier é professor efetivo da SEEDF, especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais do FNDE e mestre em Educação pela UCB.
(Livro resenhado: Guia Prático da Política Educacional no Brasil: Ações, Planos, Programas, Impactos de Pablo Silva
Machado Bispo dos Santos, São Paulo/SP: CENGAGE Learning, 2ª Edição, 2014.
2a Edição ~ No 2 ~ agosto de 2015 89
“O primeiro capítulo trata das estruturas, conceitos e fun-
damentos da política educacional, no qual são discutidos
conceitos-base da política, a fim de que o leitor possa dife-
renciar, por exemplo, as políticas distributivas, redistribu-
tivas, regulatórias e instituintes.”
Sendo um texto com grandes méritos
“[...] determinada política pública expressa uma
- apesar de alguns deslizes -, a leitura da obra
correlação de forças imbricadas nos diversos fa-
representa abertura a muitas possibilidades, so-
tores (mediações) que a compõem, tais como a
bretudo para a apropriação, pela perspectiva lo-
cultural, o político, o histórico e o educacional.”
cal (da escola), dos direcionamentos e embargos
(SANTOS, 2014, p. 13).
à efetividade das políticas públicas da educação.
A escassez de obras que se proponham a desve- No segundo capítulo, o autor produz
lar a complexa malha de instituições e atores da uma espécie de inventário institucional da edu-
educação nacional é o principal fator de realce cação brasileira, ao tratar da estrutura dos pla-
do livro. Sua amplitude permite que gestores e nos, programas e ações de nossa política edu-
educadores se situem de forma mais consciente cacional. É nesse capítulo, que ocupa a maior
frente aos múltiplos vetores de forças que atu- parte do livro, que o autor percorre os princi-
am no campo educacional, sendo este atributo pais textos normativos, órgãos governamentais,
o que levou à leitura da obra, a esta resenha e à colegiados e instrumentos utilizados para dire-
indicação do referencial, pois entendemos que cionar, financiar e avaliar a educação nacional.
contribuiu para discussões sobre Estado, gover-
nança e política pública, como defendido por Ao tratar do ordenamento jurídico-po-
Guimarães-Iosif (2012). lítico, Santos caracteriza e distingue os pilares
nomotético (referente aos textos legais) e axio-
O livro foi organizado em três capítulos. lógico (referente a como são praticados), que no
O primeiro capítulo trata das estruturas, con- último capítulo são trabalhados como normas
ceitos e fundamentos da política educacional, formais e não-formais presentes nas instituições
no qual são discutidos conceitos-base da polí- e que afetam as políticas educacionais em sua
tica, a fim de que o leitor possa diferenciar, por prática. Quanto às normas formais, o autor pre-
exemplo, as políticas distributivas, redistribu- ocupa-se em estabelecer a relação de dependên-
tivas, regulatórias e instituintes, o que permite cia entre elas, partindo dos pilares constitucio-
identificar as linhas gerais de direcionamen- nais, passando pela Lei de Diretrizes e Bases da
to da educação frente a questões mais amplas, Educação (LDB - Lei Nº 9.694/1996), a fim de
especialmente, as relacionadas à desigualdade esclarecer os pontos basilares de nossa educa-
social. Esse primeiro capítulo permite, sobre- ção, tais como as atribuições legais de todo pro-
tudo, que qualquer ator da educação reconheça fessor ou gestor da educação pública em todo o
as múltiplas faces das políticas em sua atuação: território nacional.
90 Revista Com Censo
Quanto à política curricular, são discu- Embora não concordemos taxativamen-
tidos os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares te com essa última afirmação, é imprescindível
Nacionais (PCN e DCN), onde entendemos que levar essa possível discrepância em conta não
há carência em não esclarecer que enquanto os apenas ao se falar em definição de um currículo
PCN são orientativos, as DCN são vinculan- nacional - ainda que mínimo -, mas também ao
tes. Essa compreensão é primordial para que projetar alterações, e avaliar seus limites, para o
se possa discutir desde as propostas mínimas sistema distrital. Há questões decididas em âm-
de abrangência nacional, até as nuances a se- bito federal que possuem profunda repercussão
rem dadas dentro do Plano Político Pedagógico nas políticas locais, como a inclusão ou exclusão
(PPP) de cada escola. Trata-se de uma discussão de determinada disciplina, que implica em nova
que precisa ser dividida distribuição de carga
com os docentes, a fim horária em todas as es-
de que o professor não “O autor é levado a afirmar colas, na contratação ou
se torne mero cumpridor readaptação de profis-
dos sumários constan- que “[...] não há como falar sionais e, inclusive, pode
tes nos livros didáticos
ou, por outro lado, um
em um currículo nacional impor limites a práticas
interdisciplinares ou
reformador solitário, ao se este foi, em grande par- transdisciplinares, uma
reconstruir todo o cur- vez que sendo as normas
rículo a cada ano, a cada te, copiado da Espanha”.” gerais (nacionais) dema-
turma. É preciso que a siadamente específicas,
atuação se dê de forma crítica, mas articulada, e os sistemas subnacionais enfrentam limites para
isso não ocorrerá sem que se conheça a política dar soluções locais a seus problemas. O mesmo
curricular nos níveis macro, meso e micro. se pode refletir quanto à ampliação do ensi-
no fundamental para 9 anos, a antecipação da
Importante contribuição traz o autor ao obrigatoriedade da escolarização, entre outros.
resgatar linhas da história da construção dos Esses limites precisam ser identificados, discu-
PCN, cuja finalidade haveria de ser a constru- tidos e confrontados, não simplesmente ignora-
ção de parâmetros nacionais - que portanto dos, sob risco de condenar a própria política por
não poderiam estar desarticulados da realida- frágil formulação.
de brasileira -, mas que foram expressivamente
determinados por influências estrangeiras, nota- Outro aspecto a que o autor se dedica
damente da experiência espanhola, o que fragili- é a malha de financiamento da educação bási-
zou o potencial desses parâmetros para orientar os ca, enfatizando a presença do Fundo de Manu-
currículos por todo o país. O autor é levado a afir- tenção e Desenvolvimento da Educação Básica
mar que “[...] não há como falar em um currículo e Valorização dos Profissionais da Educação
nacional se este foi, em grande parte, copiado da (FUNDEB) e do Fundo Nacional de Desenvol-
Espanha.” (idem, p. 59) e, ao considerar que há um vimento da Educação (FNDE). Nesse tema, en-
sistema distrital de ensino, 26 sistemas estaduais, e tendemos que o autor faz algumas inferências
quase 6 mil sistemas municipais, o autor entende equivocadas: 1) que o “FUNDEB alcança 80%
que se “[...] no Brasil não existe um sistema na- da receita proveniente de impostos oriundos de
cional, a construção de parâmetros nacionais de estados e municípios (e do Distrito Federal)”
ensino é uma discrepância.” (idem, p. 59). (idem, p. 71); 2) que o financiamento da educa-
2a Edição ~ No 2 ~ agosto de 2015 91
ção conta com “dois fundos” (idem, p. 70), afir- ção básica e superior, na perspectiva de que as
mando que o FNDE “é um fundo e se apresenta diversas ações avaliativas indicam uma realida-
como tal” (idem, p. 112); 3) que o MEC conta de que “[...] leva a política educacional no Brasil
com dezenas de bilhões captados com o FUN- a assumir cada vez mais uma diretriz monolíti-
DEB (idem, p. 111). ca e centralizadora.” (idem, p. 87). Além disso,
entende o autor que criar parâmetros avaliati-
Leituras como Cruz (2014), Sena (2008), vos nacionais exigiria um currículo nacional, o
Azevedo (2012), Castro (2012), Parente (2006), que, por sua vez, dependeria de um sistema na-
além de alguns normativos, permitem esclarecer: cional. Não havendo estes últimos, a avaliação
1) o FUNDEB não inclui receita proveniente de “[...] incide sobre algo que não existe.” (idem, p.
municípios; 2) apesar da imprecisão do nome, 81). Nesse ponto, entendemos que é primordial
o FNDE não é um fundo; como tal, a educação observar as políticas de avaliação em seu cará-
básica conta com o FUNDEB, que na prática ter conflitante (Cf. YANNOULAS, 2012) não
se configura como 27 fundos, um em cada Es- com o intuito puramente avaliador, mas indu-
tado e no Distrito Federal; 3) o MEC não faz tor. Mesmo sem haver a clara definição de um
a arrecadação do FUNDEB e nem mesmo sua currículo nacional - fato inclusive que foge ao
gestão: a arrecadação é feita pela Secretaria do conhecimento de muitos educadores e gestores
Tesouro Nacional (STN), e a vinculação das re- -, as comunidades escolares têm progressiva-
ceitas ao FUNDEB se aplica apenas àquelas que mente direcionado seus trabalhos para as ava-
já seriam transferidas a estados e municípios liações externas, nacionais ou internacionais,
por vinculação constitucional mesmo antes da sem sequer questionar se a métrica utilizada é
existência desse Fundo ou de seu predecessor, o aplicável aos fins buscados por aquela institui-
FUNDEF. O papel do MEC, por intermédio do ção (Cf. HORTA, 2014).
FNDE, resume-se à complementação da União
para o FUNDEB, prevista no art. 4º da Lei Nº Ao final do segundo capítulo, Santos se
11.494/2007. detém à análise do que chamou de Elementos
Integradores da Política Nacional. Dentre eles,
Embora pesem as imprecisões, persis- o Compromisso Todos pela Educação (CTE), o
te a contribuição, no sentido de posicionar o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
financiamento dentro de toda a complexidade e o Plano de Ações Articuladas (PAR). Esses
institucional, o que permite que o gestor ou instrumentos, pretensos formadores de redes,
educador tenha um ponto de partida para, em haveriam de dar conta de integrar a ampla gra-
seguida, consultar referências específicas para nularidade dos sistemas educacionais. Em nos-
aprofundar-se em temas também específicos. so caso, essas integrações se materializam nas
Contudo, sabendo qual é o recorte que está apli- relações entre União e Governo Distrital, e en-
cando e sabendo que não é possível compreen- tre os diversos órgãos do Distrito Federal, uma
der as políticas educacionais olhando apenas vez que não há as figuras de estado e municí-
para as ações de uma esfera de governo, de um pios. Contudo, esta avaliação não poderá deixar
dos poderes, ou de uma das dimensões ou ní- de levar em conta as interlocuções, por um lado,
veis da política. com as populações de municípios do entorno,
e por outro, com organizações transnacionais,
Ainda no capítulo 2, o autor discute os como a Organização das Nações Unidas para a
instrumentos de avaliação, envolvendo educa- Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e
92 Revista Com Censo
a Organização para
a Cooperação e De-
“Apesar da ampla expansão, à política e dessa em rela-
ção ao ator. Essa capacida-
senvolvimento Eco- entendemos que a gestão de- de de influenciar a direção
nômico (OCDE), mocrática tem seu horizonte es- das diretrizes de origem
por exemplo, que central, porém, não re-
protagonizam as de- treitado, exatamente pela pre- verte o sentido da política,
finições de priorida- dominância da centralização embora possa causar dis-
des e metas, tendo
ações que repercu-
na definição e avaliação das torções em uma direção,
ou seja, interferem, mas
tem por todo o terri- políticas educacionais, como o não definem a política.
tório nacional. autor também afirmou.”
Dessa análise depreen-
Em contraponto à presença e à forte in- de-se que é imprescindível a busca de coalisões
fluência de organismos internacionais, cada vez prévias às definições de direção de políticas, se-
mais tem estado presente nos textos das polí- jam em âmbito nacional - por exemplo, na ela-
ticas educacionais o princípio da gestão demo- boração do Plano Nacional de Educação (PNE)
crática. Santos entende que esse princípio “[...] -, seja em âmbito local - um projeto político
se amplia significativamente e caminha a passos pedagógico, por exemplo. As políticas preten-
largos no sentido de tornar-se prática corren- samente impositivas tendem a sofrer distorções
te na Política Educacional no Brasil.” (idem, p. de percurso. Apesar disso, não deixam de exis-
100). Apesar da ampla expansão, entendemos tir, pois as forças de interferência não são capa-
que a gestão democrática tem seu horizonte zes de reverter ou invalidar o sentido geral ini-
estreitado, exatamente pela predominância da cial. Essa reflexão permite ao gestor e ao educador
centralização na definição e avaliação das políticas pensar sua atuação, tanto na implantação da polí-
educacionais, como o autor também afirmou. tica local de uma escola, quanto na interpretação das
políticas emanadas dos órgãos centrais da educação,
No capítulo 3, Santos desenvolve uma seja da esfera federal ou distrital.
análise das características estruturais do campo
da política educacional. É nesse último capítulo As críticas apresentadas não são para deses-
que reside a principal contribuição da obra para timular a leitura, ao contrário, são para que o leitor
a reflexão de cada educador ou gestor quanto às não se atenha às informações pontuais, que são ami-
políticas da educação. Seguindo Bourdieu, o au- úde imprecisas ou equivocadas, mas sim dedique
tor analisa - hipoteticamente, mas com fácil mate- sua reflexão à abordagem de campo, proposta pelo
rialização - as forças atuantes no direcionamento autor, e conceba sua realidade, concreta, por esta
das políticas públicas de educação. A concepção ótica, a fim de melhor situar suas possibilidades de
predominantemente centralizada faz com que as ação. Com essa cautela, entendemos que a obra pode
políticas - pretensamente dirigidas de forma cer- contribuir para aprimorar a interpretação da política
teira - sofram influências, por um lado, pelas re- pública educacional no Brasil, inclusive na leitura de
gras formais (leis em sentido amplo) e, por outro, dados quantitativos censitários.
pelas regras não formais (cultura organizacional,
disputa política). O posicionamento de cada ator
dentro deste campo e sua capacidade de influência
definem o grau de interferência do ator em relação
2a Edição ~ No 2 ~ agosto de 2015 93
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AVILA, Marta Marques. A federação brasileira, a entidade municipal e a repartição de compe
tências: aspectos controversos. Interesse público : Porto Alegre, 2012.
ARRETCHE, Marta. Tendências no estudo sobre avaliação. In: RICO, Elizabeth Melo (org.). Avalia
ção de Políticas Sociais: uma questão em debate. São Paulo: Cortez, 2009.
AZEVEDO, Janete M. L. de. Implicações da nova lógica de ação do Estado para a educação mu
nicipal. Educação & Sociedade, Campinas, v.23, n. 80, p. 49-71, 2002. Disponível em: <http://
dx.doi.org/10.1590/S0101-73302002008000004>. Acesso em: 18 mar. 2012.
CASTRO, Jorge Abrahão de. Avaliação do processo de gasto público do Fundo Nacional de De
senvolvimento da Educação (FNDE). Brasília: Ipea, 2001. Disponível em: <https://www.ipea.
gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/70/80>. Acesso em 05 mar. 2012.
CRUZ, Rosana E. Os recursos federais para o financiamento da educação básica. In: PINTO, José
Marcelino R.; SOUZA, Silvana A. (Org.) Para onde vai o dinheiro da educação: caminhos e
descaminhos do financiamento da educação. São Paulo: Xamã, 2014. p. 57-72.
GUIMARAES-IOSIF, Ranilce. Estado, governança e política educacional: por que os educado
res precisam discutir essa relação? In: KASSAR; M. C. M.; SILVA, F.C. T. Educação e pesqui
sa no Centro-Oeste: políticas públicas e desafios na formação humana. Campo Grande, MS:
UFMS, 2012, p.49-66.
HORTA NETO, João Luiz. Os efeitos das avaliações externas sobre as políticas educacionais do Go
verno Federal Brasileiro. In: CUNHA, Célio; JESUS, Wellington Ferreira de; GUIMARÃES
-IOSIF, Ranilce (Orgs.). A educação em novas arenas: políticas, pesquisas e perspectivas. Bra
sília: Liber Livro, 2014, pp.51-78.
PARENTE, Cláudia da Mota Darós. Assistência financeira do FNDE/MEC a programas e projetos
educacionais: formato e implicações. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v.
87, n. 215, p.19-28, 2006.
SANTOS, Pablo S.M.B. Guia Prático da Política Educacional no Brasil. 2a Ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2014.
SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2a Ed. São
Paulo: Cengage Learning,. 2014.
SENA, Paulo. A legislação do Fundeb. Cadernos de Pesquisa, v. 38, n. 134, p. 319-340, 2008.
YANNOULAS, Silvia Cristina; SOUZA, Camila Rosa Fernandes de; ASSIS, Samuel Gabriel. Políti
cas educacionais e o estado avaliador: uma relação conflitante. Sociedade em Debate, v. 15, n.
2, p. 55-67, 2012.
94 Revista Com Censo
Você também pode gostar
- Simulado - Políticas Educacionais e Gestão Escolar - POEGE.3.54Documento18 páginasSimulado - Políticas Educacionais e Gestão Escolar - POEGE.3.54Eloi Pinheiro de Miranda100% (1)
- 100 Questões - LOAS PDFDocumento49 páginas100 Questões - LOAS PDFJamily Luz50% (2)
- Resolucao See 4.824 2023 Movimentacao PessoalDocumento15 páginasResolucao See 4.824 2023 Movimentacao PessoalAlair TavaresAinda não há avaliações
- Resenha - Guia Prático Da Política Educacional No BrasilDocumento6 páginasResenha - Guia Prático Da Política Educacional No Brasilandressa100% (1)
- Fichamento Do Texto: INTRODUÇÃO À TEORIA DA POLÍTICA PÚBLICA. In: Políticas Públicas Coletânea / Organizadores: Enrique Saravia e Elisabete Ferrarezi. - Brasília: ENAP, 2006.Documento14 páginasFichamento Do Texto: INTRODUÇÃO À TEORIA DA POLÍTICA PÚBLICA. In: Políticas Públicas Coletânea / Organizadores: Enrique Saravia e Elisabete Ferrarezi. - Brasília: ENAP, 2006.Tuany SousaAinda não há avaliações
- Modelo de Plano de Aula - IFDocumento3 páginasModelo de Plano de Aula - IFWilliamAinda não há avaliações
- Glossario - PDF Da Caixa EconomicaDocumento36 páginasGlossario - PDF Da Caixa EconomicaMísia FiúzaAinda não há avaliações
- Desenhos Curriculares Intarnacionais PDFDocumento74 páginasDesenhos Curriculares Intarnacionais PDFTyrone ChavesAinda não há avaliações
- Estudos de políticas educacionais e administração escolar (Vol. 2)No EverandEstudos de políticas educacionais e administração escolar (Vol. 2)Ainda não há avaliações
- Racionalidade e Projeto Político-pedagógico: um olhar a partir do Currículo e do relato das Práticas Docentes de professores do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do CearáNo EverandRacionalidade e Projeto Político-pedagógico: um olhar a partir do Currículo e do relato das Práticas Docentes de professores do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do CearáAinda não há avaliações
- A Escola Pública de que Precisamos: Novas Perspectivas Para Estudantes e ProfessoresNo EverandA Escola Pública de que Precisamos: Novas Perspectivas Para Estudantes e ProfessoresAinda não há avaliações
- "Educação À Distância No Brasil Diretrizes Políticas, Fundamentos e Práticas" de Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida.Documento3 páginas"Educação À Distância No Brasil Diretrizes Políticas, Fundamentos e Práticas" de Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida.Andre Cavalcanti0% (1)
- Portaria 255 Lideres de ClasseDocumento6 páginasPortaria 255 Lideres de ClasseNailton Oliveira De AndradeAinda não há avaliações
- 9.1 - Resolução #259-2019 - Educação Básica - Revoga A Resolução #160-2013Documento28 páginas9.1 - Resolução #259-2019 - Educação Básica - Revoga A Resolução #160-2013Giullian MonteiroAinda não há avaliações
- PORTARIA #1475 de 2022 - Estabelece o Educa Mais BahiaDocumento2 páginasPORTARIA #1475 de 2022 - Estabelece o Educa Mais BahiaKratos DouradoAinda não há avaliações
- Araújo (2009)Documento16 páginasAraújo (2009)Marcos FalcãoAinda não há avaliações
- Resenha Liberdade Por Um Fio História Dos Quilombos No BrasilDocumento6 páginasResenha Liberdade Por Um Fio História Dos Quilombos No BrasilFábio Bacila SahdAinda não há avaliações
- Questões Com Gabarito Estatuto Dos Servidores NiteroiDocumento49 páginasQuestões Com Gabarito Estatuto Dos Servidores NiteroiLucas Fernandes100% (1)
- Análise Do Modelo Plano de Aula Da Disciplina de Matemática No Ensino Fundamental Do Centro de Mídias Do AmazonasDocumento12 páginasAnálise Do Modelo Plano de Aula Da Disciplina de Matemática No Ensino Fundamental Do Centro de Mídias Do AmazonasKlayton SalesAinda não há avaliações
- 5 A Contextualização No Ensino de MatemáticaDocumento16 páginas5 A Contextualização No Ensino de MatemáticasfmessiasAinda não há avaliações
- Slides. Pne. 20 Metas Educacionais.Documento8 páginasSlides. Pne. 20 Metas Educacionais.Karine Fernanda100% (1)
- Resolução MatematicaDocumento6 páginasResolução MatematicaFlávio WenzelAinda não há avaliações
- PEDAGOGIA UNEB Projeto - PedagogicoDocumento371 páginasPEDAGOGIA UNEB Projeto - PedagogicoliercioaraujoAinda não há avaliações
- TCC - Logística Reversa de Pós-ConsumoDocumento40 páginasTCC - Logística Reversa de Pós-ConsumoLEO0% (1)
- Plano de Ensino - Plano de Ensino - DidáticaDocumento3 páginasPlano de Ensino - Plano de Ensino - DidáticaRDimitriusJssAinda não há avaliações
- Alfabetização MatemáticaDocumento2 páginasAlfabetização MatemáticaBruna Coutinho100% (1)
- Lei Ordinária 525 2004 de São José Dos Pinhais PRDocumento90 páginasLei Ordinária 525 2004 de São José Dos Pinhais PRRicardo ThiessenAinda não há avaliações
- Didática - UniCesumar - Conteúdo ProgramáticoDocumento4 páginasDidática - UniCesumar - Conteúdo ProgramáticoBeatriz Santos100% (1)
- Resumo Teorias Educação SavianiDocumento4 páginasResumo Teorias Educação SavianiVivian DaianyAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS - Aula 3 PDFDocumento13 páginasAVALIAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS - Aula 3 PDFFernanda Magalhães FerrariAinda não há avaliações
- Semana Acolhimento EJA - CEJA Prof Elias Chadud - Vespertino - AnápolisDocumento10 páginasSemana Acolhimento EJA - CEJA Prof Elias Chadud - Vespertino - AnápolisLéa Rosane Barcelos100% (1)
- Exercícios I - Lei 8112Documento60 páginasExercícios I - Lei 8112Carina Charpinel100% (1)
- Atividade Referências ABNTDocumento4 páginasAtividade Referências ABNTRenata Ribeiro100% (1)
- A Taxonomia Dos Objetivos EducacionaisDocumento17 páginasA Taxonomia Dos Objetivos EducacionaisPedroCorreia100% (1)
- Apendice A QuestionárioDocumento2 páginasApendice A Questionárioanon_316481328Ainda não há avaliações
- ? Avaliação 3Documento8 páginas? Avaliação 3daniepaulaAinda não há avaliações
- D 2016-357Documento2 páginasD 2016-357COLEGIOCIPAinda não há avaliações
- Simulado - ALVES MATURANA ZABALADocumento6 páginasSimulado - ALVES MATURANA ZABALAluferraz13Ainda não há avaliações
- Curso de Questões: LDB, BNCC E Conhecimentos PedagógicosDocumento9 páginasCurso de Questões: LDB, BNCC E Conhecimentos PedagógicosCRISTIANEAinda não há avaliações
- DECLARAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL - ofcircular46DIRBEN-INSSanexoIIDocumento4 páginasDECLARAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL - ofcircular46DIRBEN-INSSanexoIIEdson de PaulaAinda não há avaliações
- Resenha de Avaliar para PromoverDocumento3 páginasResenha de Avaliar para PromoverSandra Menucelli100% (1)
- Resolução N 4777 - Sei - Govmg - 53005185Documento6 páginasResolução N 4777 - Sei - Govmg - 53005185Isis de OliveiraAinda não há avaliações
- EAD - Uma Prática Educativa Mediadora e MediatizadaDocumento36 páginasEAD - Uma Prática Educativa Mediadora e Mediatizadagabrius197650% (2)
- Como Elaborar Provas ContextualizadasDocumento4 páginasComo Elaborar Provas ContextualizadasleobiaAinda não há avaliações
- Orientações para o PlanejamentoDocumento17 páginasOrientações para o PlanejamentoFloriano FonsecaAinda não há avaliações
- Gestão Educacional Ii: Concepções e Fundamentos Do PPPDocumento54 páginasGestão Educacional Ii: Concepções e Fundamentos Do PPPGizelia Reboucas100% (4)
- Ética Profissional Avaliação Pos Graduação Jovens e AdultosDocumento4 páginasÉtica Profissional Avaliação Pos Graduação Jovens e AdultosvaldeciAinda não há avaliações
- Silva (2019)Documento10 páginasSilva (2019)Ludmilla DinizAinda não há avaliações
- Declaracao Integralizacao Curso Graduacao 2021 2Documento1 páginaDeclaracao Integralizacao Curso Graduacao 2021 2wyllamsAinda não há avaliações
- Portaria.n°786-2021 - Diário OficialDocumento3 páginasPortaria.n°786-2021 - Diário OficialIslane ArcanjoAinda não há avaliações
- Plano de Aula Eeep Cesar CampeloDocumento4 páginasPlano de Aula Eeep Cesar CampeloWilliam Matheus Bomfim CabralAinda não há avaliações
- Resumo de Discurso Do Bom Selvagem e Mau CivilizadoDocumento6 páginasResumo de Discurso Do Bom Selvagem e Mau Civilizadopatricia Muthembo100% (1)
- Políticas Públicas e Legislação Educacional 4 PDFDocumento18 páginasPolíticas Públicas e Legislação Educacional 4 PDFAllyne GeovannaAinda não há avaliações
- Orientacao 66078070 Documentos AssinaturasDocumento8 páginasOrientacao 66078070 Documentos AssinaturasEscola Ana CarlosAinda não há avaliações
- Aula Cap 2 - A Produção e Disseminação Das Estatísticas PúblicasDocumento38 páginasAula Cap 2 - A Produção e Disseminação Das Estatísticas PúblicasRené Batista Almeida0% (1)
- Modelo Ata de Conselho de ClasseDocumento5 páginasModelo Ata de Conselho de ClasseVALDIR XAVIER DE LIMAAinda não há avaliações
- Perguntas e Respostas II - AQUAPONIADocumento5 páginasPerguntas e Respostas II - AQUAPONIADaniel Filardi MontanhaAinda não há avaliações
- Gestão Da Educação Infantil e Anos IniciaisDocumento143 páginasGestão Da Educação Infantil e Anos IniciaisPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Padrões de erro em matemática: Enfoques psicoeducacionaisNo EverandPadrões de erro em matemática: Enfoques psicoeducacionaisAinda não há avaliações
- Estágio supervisionado em computação: reflexões e relatosNo EverandEstágio supervisionado em computação: reflexões e relatosAinda não há avaliações
- As Classes Sociais No Pensamento de Karl Marx - Brasil EscolaDocumento1 páginaAs Classes Sociais No Pensamento de Karl Marx - Brasil Escolamaria costa100% (1)
- Sistemas Eleitorais - Jairo NicolauDocumento35 páginasSistemas Eleitorais - Jairo NicolauDayane Rodrigues100% (1)
- A Revolução Francesa Word - CópiaDocumento18 páginasA Revolução Francesa Word - CópiaSara CorrêaAinda não há avaliações
- Princípios Do Direito Penal (Art. 1 Do CP)Documento4 páginasPrincípios Do Direito Penal (Art. 1 Do CP)geyce h bloodAinda não há avaliações
- OAB Resumo - Direito Internacional PDFDocumento4 páginasOAB Resumo - Direito Internacional PDFjusinfocus50% (2)
- Jornada de TrabalhoDocumento11 páginasJornada de TrabalhoRaFitoAinda não há avaliações
- BATISTA - 2000 - Mídia e Sistema Penal No Capitalismo Tardio-AnnotatedDocumento20 páginasBATISTA - 2000 - Mídia e Sistema Penal No Capitalismo Tardio-AnnotatedPatrick CacicedoAinda não há avaliações
- Centro e Periferia Nas Estruturas Administrativas Do Antigo Regime - Antonio Manuel HespanhaDocumento26 páginasCentro e Periferia Nas Estruturas Administrativas Do Antigo Regime - Antonio Manuel HespanhaIsabele MelloAinda não há avaliações
- Material de ApoioDocumento20 páginasMaterial de ApoioHenrique CapuleAinda não há avaliações
- TCC AngolaDocumento67 páginasTCC AngolaVagner AraújoAinda não há avaliações
- Aula 06. Intensivo EAOABDocumento202 páginasAula 06. Intensivo EAOABFernando moraesAinda não há avaliações
- Civilização SínicaDocumento5 páginasCivilização SínicaRafael AguiarAinda não há avaliações
- Beneditinos Na America Portuguesa PDFDocumento325 páginasBeneditinos Na America Portuguesa PDFFelipe Victor P. BrittoAinda não há avaliações
- Marta Harnecker e Gabriela Uribe - Cadernos de Educação Popular 9 - O Partido - Sua OrganizaçãoDocumento31 páginasMarta Harnecker e Gabriela Uribe - Cadernos de Educação Popular 9 - O Partido - Sua OrganizaçãoMah karolineAinda não há avaliações
- Portifólio Produção Textual - Caroline SenraDocumento11 páginasPortifólio Produção Textual - Caroline SenraCarolAinda não há avaliações
- DecisãoDocumento6 páginasDecisãoEdney FreitasAinda não há avaliações
- Tres Modelos Normativos de Democracia Habermas PDFDocumento9 páginasTres Modelos Normativos de Democracia Habermas PDFsabrina beckerAinda não há avaliações
- CV - Coletanea - Questões Contemporâneas e o Serviço SocialDocumento217 páginasCV - Coletanea - Questões Contemporâneas e o Serviço SocialGeunice TINOCO SCOLAAinda não há avaliações
- Problemas de GêneroDocumento7 páginasProblemas de GêneroAnanda FreitasAinda não há avaliações
- Portaria Do Mpma - MarautoDocumento1 páginaPortaria Do Mpma - MarautoREMOCIF OUVIDORIAAinda não há avaliações
- Decisão Ação Penal Nº 1235-89Documento9 páginasDecisão Ação Penal Nº 1235-89MetropolesAinda não há avaliações
- Revisar Envio Do Teste - QUESTIONÁRIO UNIDADE II - 6665-.. - PDFDocumento5 páginasRevisar Envio Do Teste - QUESTIONÁRIO UNIDADE II - 6665-.. - PDFJacqueline Jardim RosaAinda não há avaliações
- Caderno de ErrosDocumento15 páginasCaderno de ErrosJulianaVandersonAinda não há avaliações
- Comitê Intersetorial Da Juventude 2Documento3 páginasComitê Intersetorial Da Juventude 2Jhonny EmanuelAinda não há avaliações
- Superencarceramento e Gestão Da Miséria No Território PaulistaDocumento170 páginasSuperencarceramento e Gestão Da Miséria No Território PaulistaValdir de SáAinda não há avaliações
- Caça Palavras Nova Ordem Mundial 8 AnoDocumento2 páginasCaça Palavras Nova Ordem Mundial 8 AnoDaiana Fontana Cecatto50% (2)
- Conceitos de EstadoDocumento3 páginasConceitos de EstadoGiovan SantanaAinda não há avaliações
- NEGRI, O Comum Como Modo de ProduçãoDocumento12 páginasNEGRI, O Comum Como Modo de ProduçãoAnonymous ykRTOEAinda não há avaliações