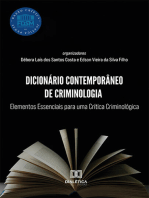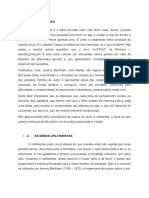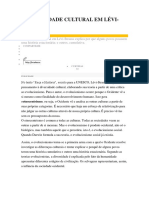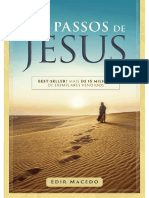Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
VIGIAR E PUNIR Resumo
Enviado por
angelica100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
183 visualizações11 páginasI- O documento resume o livro "Vigiar e Punir" de Michel Foucault, que analisa a história da violência nas prisões e a mudança dos sistemas penais ocidentais do suplício para a prisão.
II- Na primeira parte do livro, Foucault descreve como o suplício público foi substituído por uma punição mais discreta que visava não o corpo, mas a alma do criminoso.
III- A segunda parte explica como a reforma do sistema punitivo na segunda metade do século 18 visava uma punição
Descrição original:
Título original
VIGIAR E PUNIR resumo
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoI- O documento resume o livro "Vigiar e Punir" de Michel Foucault, que analisa a história da violência nas prisões e a mudança dos sistemas penais ocidentais do suplício para a prisão.
II- Na primeira parte do livro, Foucault descreve como o suplício público foi substituído por uma punição mais discreta que visava não o corpo, mas a alma do criminoso.
III- A segunda parte explica como a reforma do sistema punitivo na segunda metade do século 18 visava uma punição
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
183 visualizações11 páginasVIGIAR E PUNIR Resumo
Enviado por
angelicaI- O documento resume o livro "Vigiar e Punir" de Michel Foucault, que analisa a história da violência nas prisões e a mudança dos sistemas penais ocidentais do suplício para a prisão.
II- Na primeira parte do livro, Foucault descreve como o suplício público foi substituído por uma punição mais discreta que visava não o corpo, mas a alma do criminoso.
III- A segunda parte explica como a reforma do sistema punitivo na segunda metade do século 18 visava uma punição
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
VIGIAR E PUNIR – HISTÓRIA DA
VIOLÊNCIA NAS PRISÕES
(MICHEL FOUCAULT)
ANGÉLICA CORRÊA
Doutoranda Universidade LaSalle
INTRODUÇÃO - APRESENTAÇÃO DA OBRA
Em francês, Surveiller et Punir: Naissance de la prison, Vigiar e Punir
publicado originalmente em 1975, é um estudo científico no qual Foucault narra a
história da legislação penal e os métodos punitivos com que o poder, há séculos,
regulamentou e implementou o sistema de repressão à delinquência: do suplício dos
corpos até as modernas instituições correcionais.
No livro, Foucault faz um exame dos mecanismos sociais e teóricos que
motivaram as mudanças nos sistemas penais ocidentais, dedicando-se à análise de como
o poder, por meio de diversas entidades estatais (hospitais, prisões e escolas), vigia e
pune aqueles que qualifica como criminosos (ou “injustos agressores”).
Foucault, de forma sagaz e irônica, desmitifica no livro a nova principiologia
do Direito Penal, lastreada no encarceramento, trazida pela modernidade, esta que,
segundo seus defensores, com a preservação do respeito à pessoa e à dignidade, falaria
não mais do castigo dos delinquentes, mas de sua recuperação para o fim de reintegrá-
los à sociedade.
O Direito Penal moderno assume, portanto, um novo lema: o de que ele não
existe mais para punir crimes, mas para readaptar delinquentes.
Vigiar e Punir divide-se em quatro partes:
→ 1ª Parte: Suplício
● Cap. I: “O Corpo dos Condenados”;
● Cap. II: “A Ostentação dos Suplícios”;
→ 2ª Parte: Punição
● Cap. I: “Punição Generalizada”;
●Cap. II: “Mitigação das Penas”;
→3ª Parte: Disciplina
● Cap. I: “Corpos Dóceis”;
● Cap. II: “Os Recursos para o Bom Adestramento”;
● Cap. III: “Panoptismo”
4ª Parte: “Prisão”
● Cap. I: “Instituições Completas e Austeras”
● Cap. II: “Ilegalidade e Delinquência”
● Cap. III: “O Carcerário”.
Primeira parte: o suplício
I- O corpo dos condenados. O autor inicia este capítulo expondo dois
documentos que explicitam dois estilos penais diferentes. O primeiro documento é a
descrição de um suplício, um espetáculo público bastante violento [“Finalmente foi
esquartejado. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não
estavam afeitos à tração; de modo que, em vez de quatro, foi preciso colocar seis; e
como isso não bastasse, foi necessário, para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe
os nervos e retalhar-lhe as juntas” (p. 09)]; já o segundo documento descreve alguns
artigos do código de execução penal, com toda a sua utilização fragmentária do tempo e
sua sutileza punitiva [“Art. 17. – O dia dos detentos começará às seis horas da manhã no
inverno, às cinco horas no verão. O trabalho há de durar nove horas por dia em qualquer
estação. Duas horas por dia serão consagradas ao ensino. O trabalho e o dia terminarão
às nove horas no inverno, às oito horas no verão” (p. 10)].
Entre eles há um hiato surpreendente de apenas três décadas (do final do século
18 e início do século 19). Para alguns relatos da época (e também atuais), o
desaparecimento do suplício tem a ver com a “tomada de consciência” dos
contemporâneos em prol de uma “humanização” das penas. Mas a mudança talvez se
deva mais ao fato de que o assassino e o juiz trocavam de papeis no momento do
suplício, o que gerava revolta e fomentava a violência social. Era como se a execução
pública fosse “uma fornalha em que se acende a violência” (p. 13).
Sendo assim, necessário seria criar dispositivos de punição através dos quais o
corpo do supliciado pudesse ser escondido, escamoteado; excluindo-se do castigo a
encenação da dor. A guilhotina já representa um avanço neste sentido, pois faz com que
aquele que pune não encoste no corpo do que é punido. A partir da segunda metade do
séc. 19, na mudança do suplício para a prisão, embora o corpo ainda estivesse presente
nesta última (por ex.: redução alimentar, privação sexual, expiação física, masmorra), é
a um outro objeto principal que a punição se dirige, não mais ao corpo, e sim à alma. “A
expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, profundamente,
sobre o coração, o intelecto, a vontade, as disposições” (p. 18).
Mesmo que não haja grande variação acerca do que proibido e permitido nesse
período, o objeto do crime modificou-se sensivelmente. Não só o ato é julgado, mas
todo um histórico do criminoso, “quais são as relações entre ele, seu passado e seu
crime, e o que esperar dele no futuro” (p. 19).
Assim, saberes médicos se acumulam aos jurídicos para justificar os
mecanismos de poder não sobre o ato em si, mas sobre o indivíduo, sobre o que ele é. A
justiça criminal se ampara em saberes que não são exatamente os seus e cria uma rede
microfísica para se legitimar.
II. A ostentação dos suplícios. O capítulo se inicia com a exposição de
discursos oficiais que regiam as práticas penais de 1670 até a Revolução (Francesa, em
1789). Execuções eram raras, só em 10% dos casos. Mas a maioria das penas vinha
acompanhada do suplício (pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz). O suplício
deve marcar o condenado e por isso tem níveis e hierarquias. A morte (execução), por
exemplo, é um suplício em que se atinge o grau máximo de sofrimento (por esta razão
chamada de “mil mortes”). É um ritual, uma arte de fazer sofrer. E deve ser assistida por
todos, constatada como triunfo da justiça. A determinação do grau de punição variava
não somente conforme o crime praticado, mas também de acordo com a natureza das
provas. Por mais grave que um crime fosse, senão houvesse provas contundentes, o
suplício era mais brando do que aquele em que o crime era menos grave, mas que, por
outro lado, dispunha de provas integrais sobre o delito.
Semelhante a literatura de Kafka, o processo era feito sem o processado saber.
Tal sigilo garantia sobretudo que a multidão não tumultuasse ou aclamasse a execução.
Desta forma o rei mostrava que “força soberana” não pertencia à multidão, tendo em
vista que o crime ataca, além da vítima, também o soberano.
Quanto à participação do povo nessas cerimônias, ela era ambígua. Muitas
vezes era preciso proteger o criminoso da ira do povo. O rei permitia um instante de
violência, mas sem excessos, principalmente para não dar a ideia de privilégio a massa.
Por outro lado, em algumas ocasiões o povo conseguiu até mudar a situação do suplício
e suspender o poder soberano; em casos semelhantes, havia revolta contra sentenças de
crimes menos graves; ou comparecia simplesmente para ouvir aquele que não tinha
nada a perder maldizer os juízes, as leis, o poder e a religião (uma espécie de carnaval
de papeis invertidos, em que os poderes eram ridicularizados e criminosos viravam
heróis).
Segunda parte: a punição
I. A punição generalizada. Neste item, Foucault aborda a mudança da
punição. Na segunda metade do séc. 18, o suplício passa a ser visto pelos reformadores
com um perigo ao poder soberano, porque a tirania leva à revolta. Entende-se a
necessidade de se respeitar no assassino, o mínimo, sua “humanidade”. Antes de tal
mudança de concepção, ocorre uma transformação na qualidade dos crimes, que passam
do sangue (agressões e homicídios) à fraude e contra a propriedade (roubos, invasões,
etc.). Isto tem a ver, obviamente, com o processo social (econômico) que corre paralelo
desde o século 17 (desenvolvimento da produção, aumento de riquezas, valorização
moral e legal das propriedades privadas, novos métodos de vigilância, policiamento
mais estreito). Então não é meramente uma questão de respeito à “humanidade” que fez
mudar os dispositivos de punição, mas de adequação de penas aos delitos. Por exemplo,
a justiça fica mais rigorosa em alguns casos, antecipando os crimes. O objetivo da
reforma não é fundar um novo direito de punir mais equitativo, porém estabelecer uma
nova distribuição para que este não fosse descontínuo ou excessivo e flexível em alguns
pontos.
A reforma não vem somente de fora, parte também de dentro do sistema
judiciário, é certo que ela vem de filósofos, mas também de magistrados. Na história da
França, a reforma se consolidou após a Revolução porque insidia diretamente sobre os
pobres. Inauguram-se aí duas objetivações, do criminoso e do crime: o criminoso como
homem da natureza que precisa de cultura, o “anormal”, o louco, o doente, o monstro; e
a organização de campo de prevenção, constituição de certeza e verdade, codificação,
definição dos papeis, regras de procedimento.
II. A mitigação das penas. A reforma do sistema punitivo caminha em
direção à noção de que a punição deve participar de uma mecânica perfeita em que a
vantagem do crime se anule na desvantagem da pena; desestimulando, assim, futuros
contraventores e, principalmente, eliminando a reincidência. Neste sentido, a punição
não deve aparecer mais como efeito da arbitrariedade de um poder humano, mas tão
somente consequência natural da prática criminosa.
Nesse novo mecanismo, o poder que pune se esconde; funciona como uma
tentativa de diminuir o desejo que torna o crime algo atraente. Por isso as penas não
podem durar para sempre, elas precisam terminar, mostrar sua eficácia, tornando o
criminoso virtuoso. É verdade que existem os incorrigíveis e estes devem ser
eliminados, mas, para os demais, as penas só funcionam caso terminem. Além disso, a
pena serve não apenas para o criminoso, porém para todos os outros; é importante que
seu discurso (de eficácia) possa circular socialmente, se legitimando. E para que o
criminoso não vire um herói como outrora, “só se propagarão os sinais-obstáculos que
impedem o desejo do crime pelo receio calculado do castigo” (p. 93), não mais a glória
ou esperteza do contraventor. Trata-se de dispositivos voltados para o futuro. De agora
em diante, se pune para transformar um culpado, não para apagar o crime.
Terceira parte: a disciplina
I. Os corpos dóceis. Neste capítulo, talvez um dos mais conhecidos da
obra, Foucault descreve toda a maquinaria (ou microfísica) do poder, constituída por
detalhes sutis e invisíveis, presente nos séculos 17 e 18. Tal microfísica serve à
produção de individualidades, ou melhor, de indivíduos que possam cumprir funções
úteis, ajustando-se a um determinado tipo de sociedade emergente. Por exemplo, antes
deste período, os soldados eram aqueles que já possuíam de antemão um corpo
adequadamente predisposto para exercer seu ofício (isto é, conforme uma certa
exigência física), agora não necessariamente. É que a partir de então o corpo torna-se o
local de investimento de várias técnicas e mecanismos que pretendem docilizá-lo;
tornando, assim, as pessoas tão mais úteis quanto mais obedientes e vice-versa.
Para o autor, o homem objetificado (aquele do humanismo) pode ser inventado
graças à descoberta da maleabilidade do corpo. Estas relações de poder seguem o
mesmo modelo e são exercidas em diversas instituições: na escola, no hospital, na
fábrica, no quartel; embora tenham nascido, anteriormente, nas igrejas (sobretudo em
células monásticas). Ainda que haja um esquecimento sobre este projeto social, é
possível compreender que ao lado do sonho de uma sociedade perfeita, utópica, saída da
pena de filósofos e juristas, estava também, nesta época, o sonho de uma sociedade
disciplinar. O que Foucault faz, no livro todo, é descrever este modelo e seus
mecanismos, suas engrenagens, seus discursos e práticas, sem necessariamente afirmar
que eles foram eficazes e que não havia resistência dos sujeitos (como alguns de seus
críticos argumentaram); haja vista que uma sociedade disciplinar não é o mesmo que
uma sociedade disciplinada, como aponta Vieira (2008, p. 11).
II. Recursos para o bom adestramento. O capítulo aborda os dispositivos
que se encarregariam da eficácia do projeto disciplinar na sociedade moderna. Entre
eles está o modelo do acampamento militar, que é aplicado à extensão da sociedade e
suas instituições para constituir um grande observatório, garantindo uma vigilância
múltipla em que as técnicas de ver objetivam, na verdade, efeitos de poder sobre aqueles
que são vistos e em que “os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre
quem se aplicam” (1999, p. 143).
Para a atuação de tais dispositivos de poder, há toda uma modificação da
arquitetura, que passa a ser construída não mais para ser vista, mas para permitir um
controle daqueles que nela estão localizados, tornando-os visíveis. “O velho esquema
simples do encarceramento e do fechamento – do muro espesso, da porta sólida que
impedem de entrar ou de sair – começa a ser substituído pelo cálculo das aberturas, dos
cheios e dos vazios, das passagens e das transparências” (p. 144).
Neste cálculo de adestramento, a distribuição de tarefas de vigilância e a
fiscalização dos funcionários que cuidam da própria instituição são partes importantes
de um sistema que se autossustenta. Isto é, por mais que a instituição tenha um chefe ou
um diretor, é o aparelho mesmo em seu funcionamento que faz circular o poder,
incidindo de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Além disso, a disciplina
cria um sistema de recompensas e penalidades contínuas para individualizar e classificar
as condutas. Este separa o mau do bom, hierarquizando os indivíduos. Mas seu intuito é
homogeneizar, ou seja, fazer com que todos se pareçam, constituindo uma
normalização.
O funcionamento jurídico-antropológico moderno nasce destes mecanismos da
sanção normalizadora; o poder da norma nada mais é do que produto das disciplinas que
funcionam nas instituições deste período. Também integrando o conjunto de
mecanismos de adestramento (a maioria ainda atuante, por exemplo, em escolas dos
dias atuais), “o exame” reúne o saber e o poder num só dispositivo de maneira bastante
clara, pois permite normatizar e constituir saber sobre o objeto. O exame possibilita
escrever o indivíduo, torná-lo visível para as ciências clínicas. “Essa nova
descritibilidade é ainda mais marcada, porquanto é estrito o enquadramento disciplinar:
a criança, o doente, o louco, o condenado se tornarão, cada vez mais facilmente a partir
do século 18 e segundo uma via que é a dos mecanismos de disciplina, objeto de
descrições individuais e de relatos biográficos. Esta transcrição por escrito das
existências reais não é mais um processo de heroificação; funciona como processo de
objetivação e de sujeição. A vida cuidadosamente estudada dos doentes mentais ou dos
delinquentes se origina, como a crônica dos reis ou a epopéia dos grandes bandidos
populares, de uma certa função política da escrita, mas numa técnica de poder
totalmente diversa” (p. 159).
III. O panoptismo. Este capítulo se inicia descrevendo as prescrições para
uma cidade, do século 18, quando havia declaração de peste em seu território. Uma
quarentena se montava: indivíduos trancados em suas casas, intendentes e “síndicos”
vigiando, produção contínua de relatórios escritos e orais. Nesse sistema de exceção, a
cada habitante é dada uma função, anota-se “o nome, a idade, o sexo, sem exceção de
condição” [...] “tudo o que é observado durante as visitas, mortes, doenças,
reclamações, irregularidades, é anotado e transmitido aos intendentes e magistrados” (p.
163).
Se o modelo gerado pela lepra foi o Fechamento (como Foucault apresenta em
História da Loucura na Idade Clássica), o da peste é a sociedade disciplinar. Um
coletiviza e agrupa, outro individualiza e recorta. A figura arquitetural dessa
composição é o “panóptico” de Jeremy Bentham. Este consiste em um anel na periferia,
dividido em celas que, por sua vez, possuem janelas interna e externa onde a luz entra; e
uma torre no centro, para observar as “individualidades” e fazê-las acreditarem que
estão sendo observadas todo tempo. Tal mecanismo visa assegurar um funcionamento
automático do poder. É interessante ressaltar que este laboratório de experiências com
seres humanos torna o local de poder, também, uma instância de saber. Isto se aplica a
toda a sociedade. O panóptico tem como objetivo se difundir por todo o corpo social.
E há motivos contextuais para tal: multiplicidade dos indivíduos na explosão
demográfica, crescimento do aparelho de produção, resposta ao sistema representativo
(um “lócus” em meio à despersonalização do poder), formação do saber e majoração do
poder em processo circular do séc. 18 (por exemplo.: hospital, escola, oficina deram
possibilidade do surgimento da medicina clínica, psiquiatria, psicologia da criança,
psicopedagogia, racionalização do trabalho, etc.).
Quarta parte: a prisão
I. Instituições completas e austeras. Aqui Foucault resume a tese principal
de seu livro ao mostrar que antes da prisão ser inaugurada como peça das punições, ela
já havia sido gestada na sociedade a partir do momento em que os mecanismos de poder
repartiam, fixavam, classificavam, extraíam forças, treinavam corpos, codificavam
comportamentos, mantinham sob visibilidade plena, constituíam sobre eles um saber
que se acumulava e se centralizava sobre os indivíduos (p. 195).
Por isso a prisão surge como algo inevitável, por mais que existissem outros
projetos de punição de reformadores, por mais que ela recebesse críticas sobre sua
ineficácia e seu perigo – desde seu nascimento. Esta instituição penal surge para ser a
coação de uma educação total, para possuir uma disciplina onipresente a fim de
transformar o indivíduo pervertido. Suas técnicas de poder passam principalmente pelo
“isolamento” (sobretudo nos modelos americanos que eram baseados nos monastérios),
logo, a “solidão”, a tentativa de “autorregulação pela reflexão” e o “trabalho” (sendo
que este último gerou controvérsias entre os operários da época; contudo, é preciso
ressaltar que o mesmo não visava lucro e sim o efeito sobre os corpos e as almas dos
presos). Neste sentido, a pena é feita para ser regulada por ela mesma durante o
processo de transformação, não havendo uma relação necessariamente direta entre
crime e castigo.
O processo de ascensão e consolidação do sistema prisional produz uma
diferenciação, essencial, entre infrator e delinquente. Ao contrário do primeiro, este
último está ligado ao seu crime por um feixe de relações prévias, instintos, histórico,
comportamento, classe e etc. Embora o correlativo da justiça penal seja o infrator, o do
aparelho penitenciário é o delinquente – unidade biográfica, núcleo de periculosidade,
representante de um tipo de anomalia (p. 213); pode-se dizer que ele, o delinquente, é
uma invenção do sistema penal. Aquele não existe antes deste.
II. Ilegalidade e delinquência. Ainda na primeira metade do século 19, na
França, a cadeia se misturava com a prática do suplício. A cadeia era, na verdade, um
carro que seguia por diversas cidades levando o condenado atrelado a instrumentos de
tortura. A multidão participava desta “festa do suplício”, gritando e xingando, podia ser
contra o criminoso ou contra o excesso da punição. Ao mesmo tempo em que era
repudiado, o criminoso participava também da festa, ganhava ares de notoriedade, uma
vez que os jornais contavam seu nome e sua história antes dele chegar à cidade. Essa
festa reservava prazeres que nem a liberdade concedia, por exemplo, cânticos coletivos
de uma estranha inversão do código moral (exaltação do criminoso, rebaixamento dos
poderes constituídos). Devido a tal fato, o carro-cadeia foi substituído pela carroça
celular, que imitava um panóptico ambulante. Pouco tempo, este deu lugar à prisão mais
ou menos no formato em que a conhecemos hoje.
Foucault ressalta que a prisão já apareceu cercada por críticas e desconfianças:
ela não diminuía a taxa de criminalidade, mas aumentava; provocava reincidência
(inicialmente 38% e aumentando); fabricava delinquentes, sobretudo por não tratá-los
como seres humanos e abusar do poder, assim, tornando-os coléricos; havia corrupção,
medo e incapacidade dos guardas, especialmente para manterem sua segurança;
exploração do trabalho penal, como venda de prisioneiros como escravos; organização
do crime, solidariedade e hierarquia entre os criminosos; as condições de identificação e
vigilância dos ex-detentos os levavam a praticar novos crimes. Até hoje as críticas são
as mesmas: a prisão ao tentar corrigir não pune; a prisão gasta muito para fazer um
trabalho ineficaz.
E a resposta é a mesma também: deve-se fazer exatamente o que está no roteiro
para que a instituição seja eficaz: princípio da correção; da classificação; da modulação
das penas; do trabalho como obrigação e como direito; da educação penitenciária; do
controle técnico da detenção; das instituições anexas. “O sistema carcerário junta numa
mesma figura discursos e arquitetos, regulamentos coercitivos e proposições científicas,
efeitos sociais reais e utopias invencíveis, programas para corrigir a delinquência e
mecanismos que solidificam a delinquência. O pretenso fracasso não faria então parte
do funcionamento da prisão?”, questiona o autor (p. 225). Tentando perceber algo que
não é explicitamente dito, Foucault afirma que há uma utilidade nos fenômenos que a
crítica à prisão denuncia (isto é, na manutenção da delinquência, indução a reincidência,
transformação do infrator ocasional em delinquente): é que os castigos não objetivam
suprimir as infrações, mas distingui-las, distribuí-las, utilizá-las; trata-se de uma tática
geral das sujeições, visando uma dominação, uma administração das infrações e não
exatamente um aparelho para tornar dóceis os que praticam os crimes. Tendo em vista o
tratamento diferenciado (tolerância ou intolerância) aos delitos praticados por um
indivíduo se pertencente a uma classe ou não, ou se possuidor de um determinado tipo
de histórico que justificaria sua natureza ou não, para Foucault não há uma separação
entre ilegalidades e legalismo, mas entre ilegalidade e delinquência.
O maior objetivo da prisão foi ter fabricado a delinquência, fazendo-a legítima,
aceita, por isso até hoje a prisão perdura. Concomitantemente, os jornais, os noticiários
e a literatura constituíam a estética do crime que ajudava a legitimar a “produção da
delinquência”. Mas, por outro lado, existia também um contra noticiário que jogava
com os fatos dos crimes, mostrando a devassidão e a miséria espiritual em que viviam
os burgueses, colocando culpa na sociedade pelos desfalecidos e criminosos das classes
populares. Um exemplo é o jornal fourierista La Phalange, que Foucault reescreve o
diálogo entre um infrator de 13 anos e o juiz. Ali o autor quer mostrar as lutas sendo
praticadas na sociedade. De alguma forma, se o juiz fosse o indivíduo das classes
populares estaria ele sofrendo os efeitos do poder da classe dominante e o garoto
“infrator” ocupando seu lugar.
III. O carcerário. Foucault data a formação completa do sistema carcerário
francês em 1840, ano de inauguração de Mettray (instituição para detenção de jovens
infratores condenados) ou no dia em que um menino infrator lamentou sua saída da
mencionada colônia penal (talvez dando a prova da eficácia do sistema disciplinar que
lá funcionava). “’A mínima desobediência é castigada e o melhor meio de evitar delitos
graves é punir muito severamente as mais leves faltas; em Mettray reprime-se qualquer
palavra inútil’; a principal das punições infligidas é o encarceramento em cela; pois ‘o
isolamento é o melhor meio de agir sobre o moral das crianças; é aí principalmente que
a voz da religião, mesmo se nunca houvesse falado a seu coração, recebe toda a sua
força e emoção’; toda a instituição para penal, que é feita para não ser prisão, culmina
na cela em cujos muros está escrito em letras negras: ‘Deus o vê’” (p. 243).
Este é o princípio essencial do panóptico, sentir-se vigiado mesmo quando
ninguém está vendo, coagido a fazer o correto e seguir a norma. Em Mettray, os chefes
e subchefes não agem como pais, juízes, professores, contramestres, mas são um pouco
de cada um. Na expressão do autor, são ortopedistas da individualidade. Interessante
notar que para trabalharem no local, os chefes e subchefes precisam dominar uma
técnica disciplinar que eles apreendem quando são submetidos a um treinamento que
consiste em fazê-los sofrer coisa semelhante aos infratores.
Por fim, os chamados efeitos do carcerário são os seguintes: espraiamento de
poderes disciplinares no corpo social; recrutamento dos grandes delinquentes e a
produção destes; criação da legitimidade de punir e disciplinar; invenção de uma relação
íntima entre natureza e lei, a norma; criação de um saber que objetiva o comportamento
humano, através da observação contínua via panóptico (e de sua relação com as ciências
humanas); isso explica sua continuidade sólida diante do pretenso fracasso da prisão.
Contudo, e apesar de toda esta maquinaria descrita, Foucault encerra o livro com um
texto anônimo publicado no jornal La Phalange, de 1836, para mostrar que estes
mecanismos apresentados em Vigiar e Punir não são o funcionamento unitário de um
aparelho (finalizado e vencedor), mas são estratégias postas em uma batalha que até
hoje não cessou.
REFERÊNCIA:
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: o nascimento da prisão. 20ª ed. Tradução Raquel
Ramalhete. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
Você também pode gostar
- Dicionário Contemporâneo de Criminologia: Elementos Essenciais para uma Crítica CriminológicaNo EverandDicionário Contemporâneo de Criminologia: Elementos Essenciais para uma Crítica CriminológicaAinda não há avaliações
- Resenha - Vigiar e PunirDocumento5 páginasResenha - Vigiar e PunirKarolRabeloAinda não há avaliações
- Fichamento Livro Vigiar e Punir Foucault CompletoDocumento9 páginasFichamento Livro Vigiar e Punir Foucault CompletoTeteu De bebeca100% (1)
- Resumo de Vigiar e Punir - Michel FoucaultDocumento7 páginasResumo de Vigiar e Punir - Michel FoucaultHeloisa AkabaneAinda não há avaliações
- 3 - RESENHA - Vigiar e PunirDocumento4 páginas3 - RESENHA - Vigiar e PunirlivinharayanneAinda não há avaliações
- RESENHA Vigiar e PunirDocumento3 páginasRESENHA Vigiar e PunirJulio Cezar100% (2)
- Fichamento Do Livro Vigiar e PunirDocumento23 páginasFichamento Do Livro Vigiar e PunirAteliê Aprisco Dani ParisAinda não há avaliações
- Fichamento Vigiar e PunirDocumento9 páginasFichamento Vigiar e Punircazok100% (1)
- Vigiar e PunirDocumento39 páginasVigiar e PunirMurilo AcquavivaAinda não há avaliações
- Vigiar e PunirDocumento3 páginasVigiar e PunirAna Beatriz Olivera Romanosque100% (1)
- RESENHA, Michel Foucault - Microfísica Do PoderDocumento3 páginasRESENHA, Michel Foucault - Microfísica Do PoderLeonardo Yukishigue Wajima100% (1)
- Resumo - SandelDocumento8 páginasResumo - SandelMiguel MutheliAinda não há avaliações
- O Conceito de Liberdade Na Teoria Política de Norberto BobbioDocumento24 páginasO Conceito de Liberdade Na Teoria Política de Norberto BobbioAna Elisa Silva Fernandes Vieira100% (1)
- Vigiar e PunirDocumento8 páginasVigiar e PunirHelton sitoeAinda não há avaliações
- Minorias e Grupos Vulneráveis - Políticas Públicas PDFDocumento16 páginasMinorias e Grupos Vulneráveis - Políticas Públicas PDFdaniloAinda não há avaliações
- Resumo - A Microfísica Do PoderDocumento5 páginasResumo - A Microfísica Do PoderPedro Assumpção Dos Reis Ferreira100% (1)
- Resenha-Habermas Alessandro PinzaniDocumento6 páginasResenha-Habermas Alessandro PinzaniClaudio ChagasAinda não há avaliações
- Resenha Corpo Dóceis - FabiDocumento3 páginasResenha Corpo Dóceis - FabiFabiani Figueiredo CaseiraAinda não há avaliações
- Fichamento - A Ordem Do DiscursoDocumento7 páginasFichamento - A Ordem Do DiscursoAmanda Kerolainy86% (7)
- Pesquisa Científica - Falsas Memórias e o Processo PenalDocumento21 páginasPesquisa Científica - Falsas Memórias e o Processo PenalJaqueline AlmeidaAinda não há avaliações
- Fichamento - A Dominação MasculinaDocumento3 páginasFichamento - A Dominação MasculinaSizenando OliveiraAinda não há avaliações
- Meneses Paulo Etnocentrismo e Relativismo CulturalDocumento11 páginasMeneses Paulo Etnocentrismo e Relativismo CulturalCleide LopesAinda não há avaliações
- Cartilha DUDH e ODSDocumento31 páginasCartilha DUDH e ODSIara Steiner PerinAinda não há avaliações
- Resumo Mearsheimer Cap 2 e 3 - "The Tragedy of Great Power Politics"Documento6 páginasResumo Mearsheimer Cap 2 e 3 - "The Tragedy of Great Power Politics"Marcelo Scalabrin Müller100% (1)
- Análise Do Filme Escritores Da LiberdadeDocumento5 páginasAnálise Do Filme Escritores Da LiberdademarcellepratesAinda não há avaliações
- Curso Michel Foucault - Apostila Profa. GregolinDocumento120 páginasCurso Michel Foucault - Apostila Profa. GregolinJessica ChagasAinda não há avaliações
- Cap 16 Desenvolvimento !Documento3 páginasCap 16 Desenvolvimento !Isabelle MoutelaAinda não há avaliações
- Concepção Naturalista Do Homem e Tendência Tecnicista Da EducaçãoDocumento2 páginasConcepção Naturalista Do Homem e Tendência Tecnicista Da EducaçãoEstefânia Mirelly100% (1)
- Vigiar e Punir ResumoDocumento10 páginasVigiar e Punir Resumod-fbuser-32453607100% (3)
- Fichamento O SuicídioDocumento12 páginasFichamento O SuicídioMarcos CarvalhoAinda não há avaliações
- Ideologia Eagleton ResenhaDocumento5 páginasIdeologia Eagleton Resenhaeormond2547Ainda não há avaliações
- IRELAND, Timothy. Educação em Prisões No Brasil. Direito, Contradições e Desafios.Documento21 páginasIRELAND, Timothy. Educação em Prisões No Brasil. Direito, Contradições e Desafios.Luiz LuizaoAinda não há avaliações
- Ser AfetadoDocumento3 páginasSer AfetadoLeskah01Ainda não há avaliações
- Resumo Teoria Das Relações InternacionaisDocumento6 páginasResumo Teoria Das Relações InternacionaisJulia RibeiroAinda não há avaliações
- O Empirismo de David HumeDocumento3 páginasO Empirismo de David HumeCelia GodinhoAinda não há avaliações
- Resumo - WallersteinDocumento2 páginasResumo - WallersteinFelipeAinda não há avaliações
- 1 - Por Que Joãozinho Não Aprende A LerDocumento1 página1 - Por Que Joãozinho Não Aprende A LerVinícius Adriano de FreitasAinda não há avaliações
- Experimento StanfordDocumento5 páginasExperimento Stanfordpedrolochmoreira100% (1)
- Direito - Classificação Das Normas JurídicasDocumento5 páginasDireito - Classificação Das Normas JurídicasbeautyH2O7455100% (1)
- Diversidade Cultural - Levi StraussDocumento3 páginasDiversidade Cultural - Levi Straussibag_27Ainda não há avaliações
- Genealogia Do Poder em FoucaultDocumento6 páginasGenealogia Do Poder em FoucaultTiagoTrovãoAinda não há avaliações
- Fichamento O Caso Dos Exploradores de CavernaDocumento3 páginasFichamento O Caso Dos Exploradores de CavernaAndresa_mvAinda não há avaliações
- Estado Autoritário e Violência InstitucionalDocumento22 páginasEstado Autoritário e Violência InstitucionalEdson CruzAinda não há avaliações
- Resenha Os AnormaisDocumento3 páginasResenha Os AnormaisMichelle Mattos100% (1)
- Evolução Histórica Do Conceito de EducaçãoDocumento11 páginasEvolução Histórica Do Conceito de Educaçãomauracristina0% (1)
- Fichamento A Ordem Do DiscursoDocumento3 páginasFichamento A Ordem Do DiscursoJaqueline FonsecaAinda não há avaliações
- Metodologia e Tecnicas de PesquisaDocumento106 páginasMetodologia e Tecnicas de PesquisaJucimara AmaralAinda não há avaliações
- Fichamento: WEBER, Max - A Política Como Vocação - Pag 55-74Documento8 páginasFichamento: WEBER, Max - A Política Como Vocação - Pag 55-74Giulia Louise de MeloAinda não há avaliações
- O Conceito de GêneroDocumento31 páginasO Conceito de GêneroBernardo LemosAinda não há avaliações
- (In) Visíveis Sequelas Violência Psicológica PDFDocumento111 páginas(In) Visíveis Sequelas Violência Psicológica PDFbraussie100% (2)
- Emprego, Desemprego, SubempregoDocumento2 páginasEmprego, Desemprego, SubempregoCamylla Galante100% (1)
- Resenha Do Livro A Nova Razão Do Mundo Capitulo 8 e 9Documento6 páginasResenha Do Livro A Nova Razão Do Mundo Capitulo 8 e 9Rosana Fernandes da SilvaAinda não há avaliações
- Bobbio - Liberalismo e DemocraciaDocumento13 páginasBobbio - Liberalismo e DemocraciaDavid J FerreiraAinda não há avaliações
- Entrevista Com Agnes HellerDocumento7 páginasEntrevista Com Agnes HellerWanderley OliveiraAinda não há avaliações
- Caracteristicas Dos Direitos HumanosDocumento19 páginasCaracteristicas Dos Direitos HumanosAna Paula DiasAinda não há avaliações
- Método DedutivoDocumento38 páginasMétodo DedutivoPatrícia Freitas VitorAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Direitos Humanos Democracia e DesenvolvimentoDocumento5 páginasResenha Do Livro Direitos Humanos Democracia e Desenvolvimentomelissaarantes100% (3)
- Sistema penitenciário e o papel da Defensoria Pública: uma perspectiva redutora de danosNo EverandSistema penitenciário e o papel da Defensoria Pública: uma perspectiva redutora de danosAinda não há avaliações
- A biopolítica e o paradoxo dos Direitos Humanos no sistema penal custodial brasileiroNo EverandA biopolítica e o paradoxo dos Direitos Humanos no sistema penal custodial brasileiroAinda não há avaliações
- Tríduo São SebastiãoDocumento6 páginasTríduo São SebastiãoCristiano Holtz100% (1)
- Regras de Etiqueta Nas Aulas OnlineDocumento15 páginasRegras de Etiqueta Nas Aulas OnlineanaAinda não há avaliações
- SÍNTESEEEEDocumento3 páginasSÍNTESEEEESarah Gonçalves NunesAinda não há avaliações
- Aula Pratica 9 Hormonios GastrointestinaisDocumento3 páginasAula Pratica 9 Hormonios GastrointestinaisIsadora SeixasAinda não há avaliações
- Imagem Pessoal e MaquiagemDocumento119 páginasImagem Pessoal e Maquiagemcrisdias2409Ainda não há avaliações
- Humanização e Atendimento No TrabalhoDocumento13 páginasHumanização e Atendimento No TrabalhoSory MarianoAinda não há avaliações
- TemasMultidiciplinaresdeneuro Aprend PDFDocumento913 páginasTemasMultidiciplinaresdeneuro Aprend PDFPedro Lima100% (2)
- Navio NegreiroDocumento3 páginasNavio NegreiroLeila BrandãoAinda não há avaliações
- Ata Sacramental Discursos SUDDocumento2 páginasAta Sacramental Discursos SUDDiego100% (2)
- Nos Passos de Jesus - Edir MacedoDocumento17 páginasNos Passos de Jesus - Edir MacedoNarcisiaAinda não há avaliações
- Lições Bíblicas CPAD 8Documento6 páginasLições Bíblicas CPAD 8Thiago De Oliveira PintoAinda não há avaliações
- Analista de Administração e Finanças - Tipo 1 AlgásDocumento14 páginasAnalista de Administração e Finanças - Tipo 1 AlgásSamir CafeAinda não há avaliações
- Aula3 Parte2 20mar 17Documento4 páginasAula3 Parte2 20mar 17mmarcal13Ainda não há avaliações
- 2 SimuladoDocumento11 páginas2 SimuladoraianyprausemartinsAinda não há avaliações
- H. Lefebvre - Urbano (O)Documento11 páginasH. Lefebvre - Urbano (O)paolocolosso50% (2)
- AUTOESTIMADocumento26 páginasAUTOESTIMAEldaAinda não há avaliações
- PALAZZO, Luiz. Complexidade, Caos e Auto-OrganizaçãoDocumento25 páginasPALAZZO, Luiz. Complexidade, Caos e Auto-OrganizaçãoJordan MedeirosAinda não há avaliações
- A Imagem Sobrevivente: Historia Da Arte e Tempo Dos Fantasmas Segundo Aby Warburg Páginas 315 A 335Documento21 páginasA Imagem Sobrevivente: Historia Da Arte e Tempo Dos Fantasmas Segundo Aby Warburg Páginas 315 A 335Carine KAinda não há avaliações
- 13 - Tipos de Rna e Código GenéticoDocumento24 páginas13 - Tipos de Rna e Código GenéticoMarcela FerreiraAinda não há avaliações
- Guia MultPaz GYN - DigitalDocumento40 páginasGuia MultPaz GYN - DigitalMAURICIO MACHADOAinda não há avaliações
- A CIF em Fisioterapia - Uma Revisão BibliográficaDocumento117 páginasA CIF em Fisioterapia - Uma Revisão BibliográficaRaphael Piceli MorettiAinda não há avaliações
- Exerc Cicios Verbos 8º e 9º AnoDocumento9 páginasExerc Cicios Verbos 8º e 9º Anofilipajoana89Ainda não há avaliações
- ED03 (Pilha de Concentração)Documento3 páginasED03 (Pilha de Concentração)Lavinia RosaAinda não há avaliações
- Estudo Bíblico em TitoDocumento5 páginasEstudo Bíblico em TitobsantosrjAinda não há avaliações
- DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - Biomedicina FANDocumento49 páginasDIAGNÓSTICO POR IMAGEM - Biomedicina FANcarlosbiomedico100% (1)
- Portfólio Empresarial: Maestria - Educação & TreinementoDocumento12 páginasPortfólio Empresarial: Maestria - Educação & TreinementoMaestria Educação e TreinamentoAinda não há avaliações
- Fonte Simetrica ProjetoDocumento18 páginasFonte Simetrica ProjetoOderlei EduardoAinda não há avaliações
- 15 UEM Inf Digital Plano D-1Documento14 páginas15 UEM Inf Digital Plano D-1Nazymm DtrAinda não há avaliações
- Manual Do COLOGADocumento93 páginasManual Do COLOGAFernando Chaves Moraes50% (2)
- Karl MannheimDocumento7 páginasKarl MannheimMário LucutacanadorAinda não há avaliações