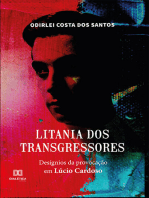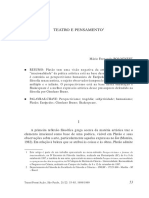Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Paulo Francis A DialEtica de Impiedade Eduardo Sterzi
Enviado por
dudiramonerock0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
102 visualizações4 páginasTítulo original
6811566-Paulo-Francis-A-DialEtica-de-Impiedade-Eduardo-Sterzi
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
102 visualizações4 páginasPaulo Francis A DialEtica de Impiedade Eduardo Sterzi
Enviado por
dudiramonerockDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
A DIALÉTICA DA IMPIEDADE
Paulo Francis
Eduardo Sterzi*
Há muitos modos de afirmar; há só um de negar tudo.
O Diabo, num conto de Machado de Assis
Os paradoxos seguem provocando-nos espanto, como se ignorássemos que, nos
jogos sérios do intelecto, precisamente o paradoxo constitui o momentum de refulgência
da verdade. Eventuais antagonistas de Paulo Francis, e mesmo alguns comentadores
simpáticos aos seus escritos, acusaram o caráter paradoxal de seu percurso político, sua
trajetória do trotskismo da juventude para o liberalismo da maturidade. Os mais atentos
entre estes observadores devem ter percebido que o paradoxo, antes de ser um dado
resultante de uma evolução ou degenerescência diacrônica, esteve sempre vivo no seio
de cada uma dessas posições extremas, e, se o Francis comunista podia ser
escandalosamente elitista em seus gostos e posições, o Francis conservador também
mostrou-se eivado de um anarquismo insopitável.
É por artes do paradoxo que a mística da convivência com os poderosos, tão
flagrante em seus textos, e à qual não faltavam mesmo traços de lacaiagem,
praticamente não se diferenciava do desnudamento impiedoso da mecânica do poder.
Seus livros mais pessoais, O Afeto que se Encerra e Trinta Anos esta Noite , assim como
seus romances, Cabeça de Papel e Cabeça de Negro, são elucubrações, obliquamente
apologéticas, sobre a classe dirigente, e também, não em menor medida, fantasias
egocêntricas e até paranóicas acerca de sua própria centralidade nesse contexto. Não
obstante, todos encerram-se com o desencanto de quem se descobre enfim impotente,
ainda que mais sábio pelo reconhecimento dessa impotência. Por força da reflexão, o
desencanto transcende a individualidade. Observe-se a transição da primeira pessoa do
singular para a equivalente do plural no encerramento de Trinta Anos esta Noite: «O
1964 fez de mim, da minha geração, homens adultos. Vivíamos de ilusões, nos
imaginando senhores do Brasil de que gradualmente tomávamos posse. Escapuliu, não é
de ninguém, é o que quisermos fazer de nossas vidas».
Francis jamais camuflou seu desprezo pelos (para falar como Mallarmé)
«reporters par la foule dressés à assigner à chaque chose son caractère commun». Foi
tão pouco jornalista, se pensarmos na devoção ao clichê que se associa comumente a
essa profissão, e, no entanto, é impossível conceber sua œuvre (a pomposa voz francesa
deve soar aqui com meditada ironia) fora do ambiente jornalístico. Há precursores
célebres nessa aparente contradição, como o norte-americano H. L. Mencken e o
austríaco Karl Kraus. «Jornalismo é a segunda mais antiga profissão»: a frase de Francis
poderia constar sem demérito dos Sprüche und Widersprüche de Kraus. A lógica
comercial da imprensa contemporânea, que mal consegue disfarçar o desdém pela
inteligência do leitor sob a máscara do facilitamento e da empatia, é a lógica de um
bordel destinado ao fracasso, um bordel em que as meretrizes deixam-se seduzir noite e
dia pelos clientes. Francis alertou com perspicácia: «O mal da imprensa é que ela não
ousa mais desagradar o leitor ». O cumprimento da urgente tarefa pedagógica da
imprensa depende dessa ousadia. O esclarecimento do leitor é sempre um ato de relativa
violência. Ninguém aprecia ser confrontado incessantemente com a própria ignorância
(e tornar-se ciente da ignorância, como sabemos desde Sócrates, é o passo primeiro
rumo à sabedoria).
Maior leitor de Freud entre os jornalistas brasileiros, Francis estava cônscio de
que toda atividade intelectual constitui-se pela sublimação de nosso intrínseco instinto
de agressão, mas sabia também que essa sublimação não corresponde a uma completa
anulação, e sim a uma transfiguração e extensão da agressividade. (Datava sua
agressividade da separação da mãe, aos sete anos, quando foi enviado para o internato, e
persistiu em sua escrita o tom do menino que contém o choro para não parecer maricas.
Não sem ambivalência, elucidava seu sarcasmo como «a irritação do amante
rejeitado».) A consciência desse cerne agressivo fez dele, mais do que um jornalista, um
crítico. Porém, enquanto tantos exercem a atividade crítica de modo adjetivo, Francis a
desempenhou de modo substantivo. Não foi, a não ser nos seus primeiros anos de
imprensa, um crítico teatral, um crítico literário, um crítico cinematográfico... (em todas
estas qualificações, o segundo termo é o mais relevante). Foi um crítico tout court.
Walter Benjamin, numa das irônicas treze teses acerca da técnica do crítico, delineou o
ethos perverso dessa estirpe: «Só quem é capaz de aniquilar é capaz de criticar». Isso
não significa, é claro, ao contrário do que possa parecer, que o crítico deve sempre
aniquilar. O número de elogios, nos textos de Paulo Francis, não era muito inferior ao
de reprovações. No entanto, pode-se dizer que a possibilidade sempre iminente da
aniquilação anima cada sentença, transformando mesmo os encômios em promessas
sibilinas de futuros ataques. «Estamos sempre em guerra. Apenas não percebemos
algumas...», ele escreveu certa feita. (Contudo, inúmeras referências positivas a velhos
conhecidos, alguns deles merecedores óbvios de uma certeira impiedade, eram
determinadas por aquela má cordialidade detectada por Sérgio Buarque de Holanda no
Volksgeist brasileiro.)
Davi Arrigucci Jr., anatomizando o estilo desenvolvido por Paulo Francis em
seus livros e colunas, identificou-lhe como distintivo «uma frase de tropelia, em que se
acumulam coisas», «uma construção que consiste em imitar o aparentemente não-
construído». Com agudeza, nota que ele queria conferir à língua literária luso-brasileira
«uma capacidade de alusão que ela não tem». O método de Francis era designado por
ele mesmo como «raciocínio em bloco»: ponderar qualquer tema à luz de todo o
conhecimento acumulado, e não só sobre aquele assunto. Havia sempre uma referência
a mais, muitas vezes dissonante, que iluminaria nossa compreensão, ainda que fosse por
acentuar a possível complexidade do objeto em exame. Francis invejava George
Bernard Shaw, entre outros motivos, por enfileirar mais de 90 citações ou alusões em
apenas duas páginas. O objetivo tático dessa ênfase na quantidade parece evidente:
esmagar qualquer possibilidade de reação.
O tropo característico de Francis é a hipérbole. A meta da retórica do exagero foi
bem descrita por La Bruyère: «A hipérbole ultrapassa a verdade, levando assim o
espírito a conhecê-la melhor». Arrigucci, sublinhando o «completo paroxismo» –
denominação ela mesma hiperbólica para o tônus hiperbólico – que domina Cabeça de
Papel, observou que a onipresença do álcool e da cocaína no livro são índices da
exigência ininterrupta de uma «embriaguez completa». Segundo Arrigucci, é essa
embriaguez que provê «um estado propício à epifania». Há uma declaração de Francis
que nos ajuda a determinarmos o que se revela nesses instantes epifânicos. Ele confessa:
«Bebi muitos anos. Para ficar bêbado. Não posso imaginar outra razão. O bebedor social
é coisa de pequeno-burguês». Pode-se supor, portanto, que se revela a possibilidade de
um mundo contrário àquele que percebemos quando sóbrios, mas também refratário às
ilusões baratas propiciadas pela tímida embriaguez dos filisteus. Para Francis, a
nostalgia pela cultura aristocrática, desaparecida com a emergência da cultura de
massas, não era mais do que um preâmbulo irônico da invocação de uma barbárie
renovadora. Não por acaso, em seus romances, uma exegese da dialética entre cultura e
barbárie em The Second Coming, de Yeats, ocupa posição proeminente. A cultura
aristocrática e a nova barbárie (profetizada por Benjamin) irmanam-se ao permitir-nos
discernir o (suposto) real valor e significado das coisas.
Lampejos bárbaros já se encontram no seu reducionismo às vezes grosseiro, o
qual, em parte, ele herda da tradição de carmudgeons como Mencken. Este, por
exemplo, ao analisar os problemas causados a Wagner por sua primeira esposa, Minna
Planner, que queria vê-lo escrevendo óperas à moda de Rossini, conclui: «Minna era
cantora – e tinha cérebro de cantora». Francis não se envergonharia de uma tal
observação. Todo conhecimento, no fundo, exige a redução do objeto cognoscível a um
vocabulário que lhe é alheio, e o reducionismo de Francis não era mais do que a
aplicação paroxística (hiperbólica), e mesmo caricatural, desse princípio. Podemos
recordar os notáveis apontamentos sobre Milan Kundera: «Como é feio Milan Kundera.
Parece um macaco». Tal incipit não promete mais do que algumas risadas. Todavia,
depois de algumas digressões sobre a «amargura de não ser bonito, quando jovem» –
amargura que, como se pode perceber pela tonalidade do texto, e sobretudo por suas
repetições algo compulsivas, não deveria ser estranha ao próprio Francis –, ele retorna à
avaliação de Kundera: «O que seu pai e mãe lhe diziam sobre a vida lhe parecia
besteira, mas, não conseguindo ainda formar argumentação para contestá-los, fingia, até
certa idade, concordar. Talvez tenha tentado fazer esportes e sair em grupo de rapazes à
baderna, freqüentando bordéis. Mas sempre com a consciência de que não é bem assim.
Em geral, é um livro que se lê na adolescência que descola o mundo, só dele, que o
escritor é capaz de criar. Suspeito que em Kundera deve ter sido algo de Nietzsche, ele
me parece muito nietzschiano, se bem que cuida muito de criar mulheres adoráveis,
corações simples, na frase de Flaubert, como Teresa em A Insustentável Leveza do Ser e
Agnes em Imortalidade. ‹Sai para lá, macaco›, talvez uma bela menina checa tenha dito
a Kundera, nalgum baile. E ele foi se masturbar. O conteúdo masturbatório da sua obra
é um dos maiores que conheço». Francis, ao contrário de Kundera, deparara primeiro
com a antecipação da filosofia de Nietzsche por Dostoiévski, tendo aprendido com
Crime e Castigo, lido aos 14, que o ser humano é capaz de racionalizar qualquer ato,
por mais abjeto, e que, por isso mesmo, a pietas é necessária, para impedir-nos de
aniquilarmos uns aos outros. Porém, a dialética nietzsche-dostoievskiana também
poderia ser reformulada e o produto final ser a impiedade. Francis evoca Nietzsche em
seu relato sobre o golpe militar de 1964: «Tudo é versão. Há outras versões além da
nossa». Frisou, afetando candura, apresentar seu livro «nesse espí rito de uma longa
conversa». Porém, o mesmo Francis, em outra ocasião, negaria a serenidade do espírito
dialógico: «O desfecho de toda conversa masculina é que nos reasseguremos da nossa
sapiência e da basbaquice do próximo».
Comentando os diários de Samuel Pepys, ele nota que «homens de intelecto
esgrimem idéias como jongleurs». Que o bufão fosse também o philosophe da corte é
talvez a causa secreta, para além das idéias porventura esgrimidas, da impaciência de
certos leitores. Paulo Francis percebeu, e desempenhou, como poucos a dimensão
eminentemente estética da crítica, isto é, do pensamento que, antes de mais nada, coloca
em xeque seu próprio estatuto, dramaticamente. Em 1917, Franz Rosenzweig descobriu
um documento fragmentário que ficou conhecido como o primeiro «programa
sistemático» do idealismo alemão. Sua autoria resta incerta, embora seja certo que
Schelling, Hölderlin e/ou Hegel, de maneira individual ou em conjunto, são os
prováveis autores (tendo a aceitar a sugestão borgiana de Bento Prado Jr. de que se trata
de um pastiche elaborado por Hölderlin a partir das discussões filosóficas de seus dois
colegas). Ali, afirma-se, com uma limpidez inencontrada algures, que «o ato supremo da
Razão, aquele em que ela engloba todas as Idéias, é um ato estético». Na modalidade de
crítica irrestrita praticada por Francis, como na arte, a aparência constitui a essência.
Daí a importância do estilo, tão inconfundível. «Poesia, em última análise, tem apenas a
verdade que cria»: o axioma proposto por Francis poderia ser utilizado, não sem
complicações, numa avaliação de sua própria escrita. Embora ele mesmo considerasse
«discutível» sua tendência de «reagir a pessoas e acontecimentos como se fossem obras
de arte ou cenas de teatro», não saberia agir de outra maneira. Seria abdicar de sua
personalidade, o patrimônio do crítico.
A dominância estética de sua prática reflexiva certamente obscurecia algumas
nuanças dos assuntos abordados. No entanto, a própria forma, quando se torna essencial,
diz mais do que é dito pelas palavras. O aspecto cada vez mais estilhaçado de sua
escrita, por exemplo, é eloqüente, mais eloqüente do que qualquer uma de suas prédicas
estabanadas, quanto à perda da totalidade do mundo. Se o conto, como ele argumentou
certa vez, correspondia melhor do que o romance à fragmentação de nossa experiência,
a crítica quiçá lhe corresponda melhor do que qualquer forma de ficção. Agradar-lhe-ia
o anacrônico epíteto de «homem de letras», conforme admite em Trinta Anos esta
Noite. Esta designação, respeitosa, dá a medida, no entanto, do fracasso de Francis
como autor de literatura imaginativa, fracasso que talvez não seja tão seu quanto do
próprio tempo que lhe tocou viver.
Em entrevistas e programas de televisão realizados nos meses anteriores à sua
morte, ele repisou a blague de que se sentia «tecnicamente morto» em face do mundo
contemporâneo. Mesmo uma frase como «Wagner é uma forma de vida alternativa»
corteja a desaparição. É arcanamente elegíaca. Em 1994, já concedera que gostaria de
ser «o fantasma do Metropolitan Museum, escondido durante o dia e saindo à noite para
olhar o que há». Porém, essa figuração irônica da morte encontrava contrapartida numa
angústia que transcendia a mera vaidade de existir: «Não posso acreditar que minha
lucidez um dia não exista mais, insuficiente como a considero, mas é minha, é o que
sou». Reitera-se, assim, o pathos da traição, origem de toda agressividade,
brilhantemente registrado por um Manuel Bandeira embebido de Shakespeare (o
Shakespeare de King Lear e de Macbeth), em Momento num Café: «a vida é uma
agitação feroz e sem finalidade», «a vida é traição».
Só esse misto inextricável de lucidez e embriaguez – lúcida embriaguez, lucidez
embriagada –, essa disposição para experimentar a vertigem da auto-extinção, pagando
os custos de tamanha impiedade, franqueou-lhe a visão da verdade. Duvido que os
leitores apressados, os típicos leitores de jornais, souberam desfrutar a poesia do
desencanto presente numa consideração como a seguinte, sobre os conflitos raciais na
Áfric a do Sul: «Há situações para que simplesmente não existe uma solução clara e
sentimentalmente satisfatória». Livre da mauvaise conscience que anima a maioria dos
intelectuais, Francis podia inferir: «Libertação sexual, feminismo, gay lib e essa fuzarca
de drogas são essencialmente consumismo levado a seus extremos lógicos. Afirmam
todos o que o mercado significa, isto é, que tudo é permitido desde que haja freguês».
Para ele, parece não ter existido nenhum tabu, nenhum interdito ao pensamento. Nada
melhor pode ser dito sobre quem dedicou a vida ao nobre desígnio do intelecto.
Pronunciadas com ênfase dosada, não sem certa ambigüidade, tais palavras compõem a
divisa apropriada à hagiografia de um endemoniado.
* Jornalista, mestre em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS) e doutorando em Teoria e História Literária pela Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP). Este ensaio foi publicado originalmente no Jornal da
Universidade (UFRGS).
Você também pode gostar
- O Mágico de Oz em AraçatubaDocumento17 páginasO Mágico de Oz em AraçatubaDavi Alli De Oliveira Rocha70% (20)
- A arte de mentir: Pequenos textos encontrados na caverna de CronosNo EverandA arte de mentir: Pequenos textos encontrados na caverna de CronosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- As Metamorfoses Do Mal - RosenbaumDocumento9 páginasAs Metamorfoses Do Mal - RosenbaumMara Aline CamposAinda não há avaliações
- A viagem pelo imaginário bachelardianoDocumento225 páginasA viagem pelo imaginário bachelardianoCleberAraújoCabral100% (3)
- As Metamorfoses Do Mal em Clarice LispectorDocumento9 páginasAs Metamorfoses Do Mal em Clarice LispectorPaulo de ToledoAinda não há avaliações
- O Amor AcabaDocumento220 páginasO Amor AcabaMariana AgAinda não há avaliações
- Bolsonarismo - Da Guerra Cultural Ao Terrorismo Doméstico - João Cezar de Castro RochaDocumento156 páginasBolsonarismo - Da Guerra Cultural Ao Terrorismo Doméstico - João Cezar de Castro RochaGeorge de MeloAinda não há avaliações
- Literatura Afro-Brasileira e Africana: Estudo e EnsinoDocumento785 páginasLiteratura Afro-Brasileira e Africana: Estudo e EnsinoSimone Amorim100% (2)
- Gongyo Prática DiáriaDocumento29 páginasGongyo Prática Diáriacucucucu100% (2)
- Jorge Luis Borges - Livro Dos SonhosDocumento183 páginasJorge Luis Borges - Livro Dos SonhosWalter Oliveira100% (2)
- Cisne de Feltro (Paulo Mendes Campos)Documento118 páginasCisne de Feltro (Paulo Mendes Campos)Bruno dos Reis100% (1)
- A Poesia Está Na RuaDocumento12 páginasA Poesia Está Na Ruagarciadorta100palavrasAinda não há avaliações
- Roger Scruton - Confissões de Um Cético FrancófiloDocumento21 páginasRoger Scruton - Confissões de Um Cético FrancófiloMatheus RegisAinda não há avaliações
- Fichas de Verificacao de Leitura 10-11-12 - PDocumento7 páginasFichas de Verificacao de Leitura 10-11-12 - PCarolina CordeiroAinda não há avaliações
- Enem LiteraturaDocumento42 páginasEnem LiteraturaWillian Maulaz100% (3)
- Literatura - Aula 16 - Machado de AssisDocumento6 páginasLiteratura - Aula 16 - Machado de AssisLiterature Literatura100% (4)
- Paulo Mendes Campos o Amor Acaba PDFDocumento228 páginasPaulo Mendes Campos o Amor Acaba PDFAnonymous ULTo6BPDgCAinda não há avaliações
- O Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoNo EverandO Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoAinda não há avaliações
- Revista Brasileira de Literatura Comparada - 01Documento170 páginasRevista Brasileira de Literatura Comparada - 01vacceo15Ainda não há avaliações
- Revista Brasileira de Literatura Comparada - 01Documento170 páginasRevista Brasileira de Literatura Comparada - 01vacceo15Ainda não há avaliações
- Revista Brasileira de Literatura Comparada - 01Documento170 páginasRevista Brasileira de Literatura Comparada - 01vacceo15Ainda não há avaliações
- Razão e emoção: aliadas na compreensão humanaDOCUMENTO PALAVRAS 12Documento5 páginasRazão e emoção: aliadas na compreensão humanaDOCUMENTO PALAVRAS 12gonçalo100% (1)
- Uma Desfaçatez de Classe - Roberto SchwarzDocumento9 páginasUma Desfaçatez de Classe - Roberto SchwarzJairo José Batista SoaresAinda não há avaliações
- D360ºAtena LPortuguesa IVega Aula05 290817 CSouzaDocumento5 páginasD360ºAtena LPortuguesa IVega Aula05 290817 CSouzaLeonardo AugustoAinda não há avaliações
- LIT - Apostila - Machado de Assis e RealismoDocumento4 páginasLIT - Apostila - Machado de Assis e RealismoFelipe DantasAinda não há avaliações
- Do Malandro Ao AntropófagoDocumento13 páginasDo Malandro Ao AntropófagoOswald TupyAinda não há avaliações
- Paula albuquerque,+Deize+Fonseca+-+MANDRAKEDocumento8 páginasPaula albuquerque,+Deize+Fonseca+-+MANDRAKEgracianorochaAinda não há avaliações
- Litania dos Transgressores: desígnios da provocação em Lúcio CardosoNo EverandLitania dos Transgressores: desígnios da provocação em Lúcio CardosoAinda não há avaliações
- Mania de Saber - Ironia e Melancolia em o Alienista de Machado de AssisDocumento15 páginasMania de Saber - Ironia e Melancolia em o Alienista de Machado de AssisVictorAinda não há avaliações
- Amar Verbo Intransitivo Análise Da ObraDocumento5 páginasAmar Verbo Intransitivo Análise Da ObraNathália MachadoAinda não há avaliações
- Resenha Crítica-Lima Barreto-TextoDocumento5 páginasResenha Crítica-Lima Barreto-TextoCélio BeserraAinda não há avaliações
- Uma Desfaçatez de ClasseDocumento9 páginasUma Desfaçatez de ClasseEvandroAinda não há avaliações
- Machado de Assis e o instinto de nacionalidade na literatura brasileiraDocumento14 páginasMachado de Assis e o instinto de nacionalidade na literatura brasileiraleandroduranufpeAinda não há avaliações
- 64 Contos de Rubem FonsecaDocumento9 páginas64 Contos de Rubem FonsecaHilton FernandesAinda não há avaliações
- Entrevista revela carreira e influências de jornalista e escritor brasileiroDocumento16 páginasEntrevista revela carreira e influências de jornalista e escritor brasileironicacio18Ainda não há avaliações
- Os principais contistas brasileiros do século XXDocumento14 páginasOs principais contistas brasileiros do século XXHerman Augusto SchmitzAinda não há avaliações
- PAULA, Marcos Ferreira de - Espinosa Na Obra de Machado de Assis. Santa Barbara Portuguese Studies, v. 2, P. 1-18, 2018.Documento18 páginasPAULA, Marcos Ferreira de - Espinosa Na Obra de Machado de Assis. Santa Barbara Portuguese Studies, v. 2, P. 1-18, 2018.BenevidesAinda não há avaliações
- Artigo NarradorDocumento17 páginasArtigo NarradorRodrigo DamacenaAinda não há avaliações
- Jornalismo e Literatura - Duas Faces Da Mesma MoedaDocumento14 páginasJornalismo e Literatura - Duas Faces Da Mesma MoedaCátia KistAinda não há avaliações
- Confissões de um cético francófiloDocumento21 páginasConfissões de um cético francófiloAline MarquesAinda não há avaliações
- O Afeto Que Se Encerra - Paulo Francis - 1980Documento168 páginasO Afeto Que Se Encerra - Paulo Francis - 1980jgbolAinda não há avaliações
- Razão e emoção: aliadas na compreensão humanaDocumento7 páginasRazão e emoção: aliadas na compreensão humanaDaniel LimaAinda não há avaliações
- O romance modernista Amar, Verbo Intransitivo e sua linguagem inovadoraDocumento8 páginasO romance modernista Amar, Verbo Intransitivo e sua linguagem inovadoraIgorampAinda não há avaliações
- Contos de Machado de Assis analisados por Otto Maria CarpeauxDocumento27 páginasContos de Machado de Assis analisados por Otto Maria CarpeauxLuiza TofoliAinda não há avaliações
- A Poesia Envenenada de Dom CasmurroDocumento13 páginasA Poesia Envenenada de Dom CasmurroBiaSenday100% (1)
- Suzana Flag (Pseudonimo de Nelson Rodrigues)Documento20 páginasSuzana Flag (Pseudonimo de Nelson Rodrigues)Chiara di Axox100% (4)
- 459-Texto Do Artigo-1498-1-10-20170914Documento10 páginas459-Texto Do Artigo-1498-1-10-20170914Vinicius AzevedoAinda não há avaliações
- A IMPROVÁVEL ECONOMIA DOS DESPROPÓSITOS - Revista Z CulturalDocumento5 páginasA IMPROVÁVEL ECONOMIA DOS DESPROPÓSITOS - Revista Z CulturalLucas Henrique De SouzaAinda não há avaliações
- Colégio Adventista Cidade Ademar: Racismo, Capitalismo E Colonização Na Sociedade BrasileiraDocumento10 páginasColégio Adventista Cidade Ademar: Racismo, Capitalismo E Colonização Na Sociedade BrasileiraRose MoonAinda não há avaliações
- Análise do conto O Enfermeiro de Machado de AssisDocumento11 páginasAnálise do conto O Enfermeiro de Machado de AssisPatrícia Francyane100% (1)
- A influência da correspondência de Mário de Andrade no amadurecimento literário de Fernando SabinoDocumento18 páginasA influência da correspondência de Mário de Andrade no amadurecimento literário de Fernando SabinoThaís Costa MottaAinda não há avaliações
- A ambiguidade incompreendida do humorDocumento21 páginasA ambiguidade incompreendida do humorpriscilla_lima_1Ainda não há avaliações
- Osman Lins e Jorge Luis Borges: literatura, intertextualidade e influênciasDocumento23 páginasOsman Lins e Jorge Luis Borges: literatura, intertextualidade e influênciasJoão AraujoAinda não há avaliações
- Arquétipos Femininos em Dom CasmurroDocumento10 páginasArquétipos Femininos em Dom Casmurrohuli.balasz7Ainda não há avaliações
- Macunaima Entre o Elogio e A Crítica A TransculturaçãoDocumento24 páginasMacunaima Entre o Elogio e A Crítica A TransculturaçãoLuciana SousaAinda não há avaliações
- 3598-Texto Do Artigo-5913-1-10-20180411-1Documento12 páginas3598-Texto Do Artigo-5913-1-10-20180411-1marcos paulo ventura da silva limaAinda não há avaliações
- O estilo como aventura: Cioran e a relação entre linguagem e pensamentoDocumento9 páginasO estilo como aventura: Cioran e a relação entre linguagem e pensamentoGustavo SalinasAinda não há avaliações
- Um Lirico No Auge Do Capitalismo Charles BaudelaireDocumento14 páginasUm Lirico No Auge Do Capitalismo Charles BaudelaireMarcos Vinícius CaetanoAinda não há avaliações
- Direito de Resposta - Olavo de CarvalhoDocumento2 páginasDireito de Resposta - Olavo de CarvalhoHENRIQUENEV139Ainda não há avaliações
- Alejandra Pizarnik (Corrigido)Documento10 páginasAlejandra Pizarnik (Corrigido)Diogo Vaz PintoAinda não há avaliações
- Borges - Nota Sobre (Para) Bernard ShawDocumento5 páginasBorges - Nota Sobre (Para) Bernard ShawSueli SaraivaAinda não há avaliações
- Cópia de BYLAARDT Conversando Aos Infinitos - Livro de Ensaios PDFDocumento194 páginasCópia de BYLAARDT Conversando Aos Infinitos - Livro de Ensaios PDFCidobylAinda não há avaliações
- GLADSTONE - O sentido profundo da obra de Machado de AssisDocumento22 páginasGLADSTONE - O sentido profundo da obra de Machado de AssisMarcilio monteiroAinda não há avaliações
- Ensino de produção textual com base em atividades sociaisDocumento23 páginasEnsino de produção textual com base em atividades sociaisMaria Celma Vieira SantosAinda não há avaliações
- Vísceras ContoDocumento11 páginasVísceras ContodudiramonerockAinda não há avaliações
- Elite Pro Open Jiu-Jitsu 2 em Santa MariaDocumento5 páginasElite Pro Open Jiu-Jitsu 2 em Santa MariadudiramonerockAinda não há avaliações
- Para Ler (PDF) - Michel FoucaultDocumento110 páginasPara Ler (PDF) - Michel FoucaultTereza MaiaAinda não há avaliações
- PL 6840 - Reforma Do Ensino MédioDocumento14 páginasPL 6840 - Reforma Do Ensino MédioMarcelo Maia CirinoAinda não há avaliações
- Vísceras ContoDocumento11 páginasVísceras ContodudiramonerockAinda não há avaliações
- Leitura recreativa melhora leitura em séries finaisDocumento15 páginasLeitura recreativa melhora leitura em séries finaisdudiramonerockAinda não há avaliações
- MACHADO, Irene. Gêneros Discursivos. in Brait, Beth (Org.) Bakhtin Conceitos-ChaveDocumento8 páginasMACHADO, Irene. Gêneros Discursivos. in Brait, Beth (Org.) Bakhtin Conceitos-ChaveRenata Lopes FariaAinda não há avaliações
- 1 SMDocumento17 páginas1 SMalexAinda não há avaliações
- 1 SMDocumento17 páginas1 SMalexAinda não há avaliações
- Teatro e PensamentoDocumento13 páginasTeatro e PensamentodudiramonerockAinda não há avaliações
- Elite Pro Open Jiu-Jitsu 2 em Santa MariaDocumento5 páginasElite Pro Open Jiu-Jitsu 2 em Santa MariadudiramonerockAinda não há avaliações
- COMPAGNON, Antoine - O Trabalho Da CitaçãoDocumento171 páginasCOMPAGNON, Antoine - O Trabalho Da CitaçãoMalane Apolonio DA SilvaAinda não há avaliações
- Compagnon Antoine Literatura para Quc3aa PDFDocumento25 páginasCompagnon Antoine Literatura para Quc3aa PDFAnonymous Syhm81TgraAinda não há avaliações
- PL 6840 - Reforma Do Ensino MédioDocumento14 páginasPL 6840 - Reforma Do Ensino MédioMarcelo Maia CirinoAinda não há avaliações
- Causos Do Romualdo - João Simões Lopes Neto (PT-BR) 2009Documento41 páginasCausos Do Romualdo - João Simões Lopes Neto (PT-BR) 2009Carlos ValenteAinda não há avaliações
- Moacyr Scliar Saturno Nos TropicosDocumento234 páginasMoacyr Scliar Saturno Nos TropicosdudiramonerockAinda não há avaliações
- Falsa Modernidade VoltaireDocumento8 páginasFalsa Modernidade VoltairedudiramonerockAinda não há avaliações
- Apostila Ingles InstrumentalDocumento36 páginasApostila Ingles InstrumentaldudiramonerockAinda não há avaliações
- Vísceras ContoDocumento11 páginasVísceras ContodudiramonerockAinda não há avaliações
- Do Que Trata A Pragmática PDFDocumento6 páginasDo Que Trata A Pragmática PDFdudiramonerockAinda não há avaliações
- Art - Comp - 2005 - o or EnvengonhadoDocumento11 páginasArt - Comp - 2005 - o or EnvengonhadodudiramonerockAinda não há avaliações
- Carta de Pessoa A J.g.simoes Misterios Da Poesia e Sentimto Do PoetaDocumento3 páginasCarta de Pessoa A J.g.simoes Misterios Da Poesia e Sentimto Do PoetadudiramonerockAinda não há avaliações
- Lib Re ToDocumento10 páginasLib Re TopervertedorAinda não há avaliações
- As Metamorfoses Do EspelhoDocumento18 páginasAs Metamorfoses Do EspelhodudiramonerockAinda não há avaliações
- (Livro) Bioescritas: Biopoéticas PDFDocumento168 páginas(Livro) Bioescritas: Biopoéticas PDFKxo RuboAinda não há avaliações
- Análise MalaquiasDocumento12 páginasAnálise MalaquiasRafael DantasAinda não há avaliações
- Artur Azevedo - O GramáticoDocumento3 páginasArtur Azevedo - O GramáticoclaudiochAinda não há avaliações
- Como compor letras de músicas em 26 passosDocumento7 páginasComo compor letras de músicas em 26 passosmtteusAinda não há avaliações
- Apresentação Miguel TorgaDocumento3 páginasApresentação Miguel TorgaInes MartinsAinda não há avaliações
- A CatedralDocumento3 páginasA CatedralIzabela CarlaAinda não há avaliações
- 06 Ppmel Literatura Como Lugar 1Documento221 páginas06 Ppmel Literatura Como Lugar 11dennys5Ainda não há avaliações
- PT - Ptograma 10º AnoDocumento10 páginasPT - Ptograma 10º AnoAdriana CostaAinda não há avaliações
- O Que É Literatura - Slide PowerpointDocumento11 páginasO Que É Literatura - Slide PowerpointrayssaxxrodriguesAinda não há avaliações
- A poética das mornas de Eugénio TavaresDocumento12 páginasA poética das mornas de Eugénio Tavarescabulador100% (1)
- Sequencia Didática - Com As VogaisDocumento18 páginasSequencia Didática - Com As VogaisGeraldo NunesAinda não há avaliações
- Ballade MedievalDocumento2 páginasBallade MedievalÁlefe Junior Sutil da TrindadeAinda não há avaliações
- Listas para Os AlunosDocumento10 páginasListas para Os Alunosgabrielladoll12Ainda não há avaliações
- Ficha de Leitura - A Rua Que Flutua - 4º AnoDocumento3 páginasFicha de Leitura - A Rua Que Flutua - 4º AnoVanessa Monteiro Bonfim SilvaAinda não há avaliações
- A Janela Do Céu (Poesia)Documento38 páginasA Janela Do Céu (Poesia)historiadorculturalAinda não há avaliações
- Álvaro de Campos - O heterónimo e suas fases poéticasDocumento4 páginasÁlvaro de Campos - O heterónimo e suas fases poéticasMário Muniz da SilvaAinda não há avaliações
- Maria JoaoDocumento4 páginasMaria JoaoJoana SilvaAinda não há avaliações
- O poeta e a canção eternaDocumento1 páginaO poeta e a canção eternaPedro M. FilhoAinda não há avaliações
- Dissertacao de William Lima LialDocumento132 páginasDissertacao de William Lima LialRobert Garcia ToledoAinda não há avaliações
- Planilha LITERATURA E TEXTODocumento2 páginasPlanilha LITERATURA E TEXTObianca alves da silvaAinda não há avaliações
- 1º Simulado - 2 Etapa 25-04-2016Documento23 páginas1º Simulado - 2 Etapa 25-04-2016Pedro GonçalvesAinda não há avaliações
- Apresentação Modernismo - Gustavo Costa & Jair RafaelDocumento10 páginasApresentação Modernismo - Gustavo Costa & Jair RafaelGustavo de Oliveira CostaAinda não há avaliações