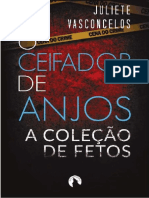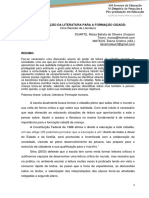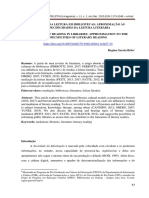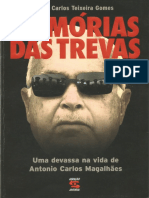Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Texto 4 Literatura, Ética e Alteridade. Seis Proposições para A Formação Do Leitor
Texto 4 Literatura, Ética e Alteridade. Seis Proposições para A Formação Do Leitor
Enviado por
Heloisa CarreiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Texto 4 Literatura, Ética e Alteridade. Seis Proposições para A Formação Do Leitor
Texto 4 Literatura, Ética e Alteridade. Seis Proposições para A Formação Do Leitor
Enviado por
Heloisa CarreiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e
Crítica Literária da PUC-SP
nº 22 - julho de 2019
http://dx.doi.org/10.23925/1983-4373.2019i22p114-130
Literatura, ética e alteridade.
Seis proposições para a formação do leitor
Literature, ethics and alterity.
Six propositions for the formation of the reader
Nazareth Salutto
RESUMO
Em quais linhas de sentido transitam ética, alteridade e direito na literatura? Essa
indagação mobiliza as reflexões do texto a ser analisado, que, tomando a literatura como
manifestação ética da palavra do outro, apresenta seis proposições para a formação do
leitor. Para tanto, parte dos seguintes princípios: do direito à literatura como condição
humana inalienável (CANDIDO, 2011); da literatura como ação política por sua
dimensão alteritária, que opõe e ultrapassa, dialoga e amplia o discurso entre ficção e
vida. Assim, considera que a formação do(s) leitor(es) implica assumir tais princípios,
contemplando a esfera subjetiva provocada pela imersão na palavra do outro. O texto
inicia com considerações sobre a função e o papel da literatura, considerando-a como
força transformadora do mundo (TODOROV, 2009). Em seguida, no diálogo com
autores literários, aponta seis proposições para a formação do leitor literário. Finaliza
com considerações acerca desses princípios.
PALAVRAS-CHAVE: Ética; Alteridade; Literatura; Formação do leitor
ABSTRACT
Along which lines do ethic, alterity and law move in literature? This question mobilizes
the reflections of the present paper, which, by taking literature as the ethical
manifestation of the word of the other, puts forward six propositions for the formation
of the reader. In that sense, it is grounded on the following principles: the right to
literature as an inalienable human condition (CANDIDO, 2011); literature as political
action because of its dimensiono of alterity, which opposes and surpasses, engages in
dialogue and expands the discourse between fiction and life. Thus, he considers that the
formation of the reader (s) implies assuming such principles, contemplating the
subjective sphere provoked by the immersion in the word of the other. The text begins
with considerations about the role and role of literature, considering it as a transforming
Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense – FEUFF – Niterói – RJ – Brasil –
nazarethssalutto@gmail.com
Artigos – Nazareth Salutto 114
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e
Crítica Literária da PUC-SP
nº 22 - julho de 2019
force of the world (TODOROV, 2009). Then, in the dialogue with literary authors, he
points out six propositions for the formation of the literary reader. It concludes with
considerations about these principles.
KEYWORDS: Ethic; Otherness; Literature; Formation of the reader
Artigos – Nazareth Salutto 115
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
Introdução
Para Todorov (2009), a literatura compreende a arte ficcional, manifesta por
meio do discurso literário que reinventa o mundo sob o olhar e sentidos de um outro,
abarcando limites e ambivalências da vida. Nesse sentido, pode-se assumir a literatura
como força ética e estética de ser e agir no mundo: “[...] mais densa e mais eloquente
que a vida cotidiana, mas não radicalmente diferente, a literatura amplia o nosso
universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo [...]” (p.
23).
A literatura contempla e extrapola limites da experiência do viver, daí seu
caráter alteritário, capaz de contemplar a multiplicidade e a polissemia das vozes que
habitam a esfera cotidiana. Nesses termos, a literatura também anuncia ao homem sua
necessidade da presença da palavra do outro, uma vez que “[...] somos todos feitos do
que os outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos
cercam; a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interações com os outros [...].”
(TODOROV, 2009, p. 23-24). Assim concebida, a literatura alarga a experiência de
viver, de entrar e estar em relação, de escutar a si mesmo e ao outro.
Sendo feitos do que os outros seres humanos nos dão, não seria incorreto
afirmar que a literatura também necessita ser compartilhada. Pela voz e mãos de outro, a
literatura pode ampliar a si mesma, romper a fissura das margens e comparecer na vida
do outro, o que torna o papel da formação do leitor ação política, mediada pela palavra e
pela experiência do outro. Um leitor não se faz sozinho, mas por meio de uma rede que
envolve práticas, livros, leitores outros que sejam capazes de semear sentidos de
pertencimento da literatura no cotidiano humano. A literatura concebe a ambivalência
da vida e, nessa mesma medida, necessita dos sentidos que a façam permanecer. O ciclo
da vida movimenta a literatura. Estreitando a urdidura entre os constituintes da literatura
e sua necessária expressão na esfera da vida humana, ou seja, do compromisso ético
com a formação do leitor, toma-se o fio do direito à literatura (CANDIDO, 2011).
1 Literatura: ética, alteridade e direito
Se a literatura pode ser tomada como expressão estética alargada da vida
cotidiana, ler literatura deve ser considerado direito humano. Nesse sentido, seria
correto afirmar que a legislação brasileira atua positivamente por meio de políticas do
Artigos – Nazareth Salutto 116
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
livro e da leitura, como o Plano Nacional do Livro na Escola (BRASIL, 2006, 2010), da
composição de acervos como o Plano Nacional Biblioteca na Escola (BRASIL, 2010,
2013), da lei 12.244, que define que até o ano de 2020 todas as instituições educativas
deverão ter bibliotecas (BRASIL, 2010), às iniciativas e projetos de instituições como a
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (2008); ações como o Movimento por um
Brasil literário, na promoção da leitura em todo o território nacional, entre outras
políticas e iniciativas.
Contudo, mesmo que fundamental e necessária, a formação do leitor não se
realiza apenas na esfera legislativa. Se assim fosse, a afirmação de que “[...] a leitura
literária é um direito que ainda não está garantido [...]” (QUEIRÓS, 2012, p. 118) não
seria uma realidade nos cenários educacional e social. De que modo condensar as
esferas estética (expressão alargada da experiência da vida) e ética (direito) da literatura
sem as contradizer? Como aliar palavra literária e experiência do leitor sem borrar o
limiar estético, ficcional, aberto, múltiplo da literatura em nome da técnica, do ensino da
literatura?
O diálogo com Candido (2011) ajuda a aproximar os contornos do direito à
literatura. Para o autor, por meio das disputas travadas socialmente, cada época constrói
e fixa critérios sobre o que vêm a ser direitos humanos. As alterações de critérios e
sentidos através dos tempos fez com que as sociedades avançassem do que o autor
denomina de um estado de barbárie para um momento que tornou possível reorganizar,
excluir e constituir novos parâmetros sociais e políticos a respeito dos direitos humanos,
ainda que carregado de contradições.
Desse modo, o autor delineia sua concepção sobre o que considera direitos
humanos a partir da ideia do que denomina bens compressíveis e bens incompressíveis.
Os bens compressíveis seriam produtos como acessórios, cosméticos; tudo que
corresponde ao supérfluo. Os bens incompressíveis, ao contrário, estariam na ordem do
que é essencial, como o direito de se alimentar, ter onde morar, o direito à saúde, à
justiça, à liberdade; e que, portanto, não podem ser negados a ninguém (CANDIDO,
2011, p. 175-176). Para que se constituam como direitos humanos, os bens
incompressíveis devem ser tratados tanto do ponto de vista individual como coletivo.
Para o autor, a literatura – definida por ele como todas as criações de toque
poético, ficcional ou dramático (p. 176) –, para ser considerada um bem incompressível
e, portanto, direito de todos, depende do que e como a sociedade organiza e fixa como
critério para tal compreensão. Por ser uma produção que se origina na trama social e
Artigos – Nazareth Salutto 117
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
cultural de todos os tempos e de forma específica e peculiar de cada povo, o autor
defende a literatura enquanto bem incompressível:
[...] a literatura aparece claramente como manifestação universal de
todos os homens, em todos os tempos [...]. O sonho assegura durante o
sono a presença indispensável deste universo, independentemente da
nossa vontade. E durante a vigília a criação ficcional ou poética, que é
a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está
presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota,
causo, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular,
moda de viola, samba carnavalesco [...] a literatura concebida no
sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade
universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação se constituiu um
direito. (CANDIDO, 2011, p. 176-177).
É importante ler literatura!, bradam tantas preleções cotidianas e oficiais sobre
o sentido oficioso de ler. Contudo, a importância do ato de ler literatura não pode ser
medida apenas pelo discurso exterior, descolado do sentido atribuído por aquele que lê.
Entre a apresentação dos livros e textos literários e a assumpção da literatura como
partícipe da vida, existem caminhos, fronteiras, escolhas que se tecem nas mediações
que atravessam a vida. Um brevíssimo exercício em torno da pergunta “por que leio ou
não literatura?” abriria um espectro de narrativas que sinalizam os múltiplos
(des)encontros e (des)caminhos entre literatura e seus leitores1. Contudo, se ocorreu um
encontro com a literatura, os motivos que a fazem permanecer na trajetória do leitor são
particulares e sinuosos.
Sendo assim, assumir a literatura como um direito diz respeito ao
reconhecimento da necessidade humana de experiências ficcionais, que extrapolem a
esfera da vida cotidiana, que emprestem lentes com as quais seja possível redimensionar
a esfera do vivido. Ler literatura, portanto, se faz necessário porque se trata de uma
forma de diálogo, um modo de escutar, de conhecer, de compreender, de indagar, de
enfrentar. Desse modo, a literatura tanto contempla como extrapola o nível pragmático e
legal do direito à literatura, uma vez que
[...] (1) ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e
significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta
emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) ela é
1
Para ampliação dessa temática, ver pesquisa FAILLA, Retratos da leitura no Brasil (edição atual - ano
2016). Disponível em:
http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAP
A.pdf.
Artigos – Nazareth Salutto 118
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e
inconsciente. (CANDIDO, 2011, p. 178-179).
Se distanciada desses princípios, a literatura corre perigo, não por escassez de
bons poetas ou ficcionistas, ou pelo esgotamento da produção literária, mas na forma
reduzidamente empobrecida, ou pretensiosamente erudita, com que a literatura vem
comparecendo (quando isso acontece) na cena com jovens leitores, da educação básica
ao ensino superior:
[...] por uma estranha inversão, o estudante não entra em contato com
a literatura mediante a leitura dos textos literários propriamente ditos,
mas com alguma forma de crítica, de teoria ou de história literária.
Isto é, seu acesso à literatura é mediado pela forma ‘disciplinar’ e
institucional. Para esse jovem, literatura passa a ser então muito mais
uma matéria escolar a ser aprendida em sua periodização do que um
agente de conhecimento sobre o mundo, os homens, as paixões, enfim,
sobre a vida íntima e pública. (TODOROV, 2009, p. 10).
Partindo das considerações sobre literatura como palavra do outro, como
expressão estética e alargada do viver, e do princípio ético da literatura como
necessidade e direito inalienável da esfera humana, a seguir são apresentadas seis
propostas para a formação do leitor. Para tanto, faz-se necessário tornar claro que essas
seis propostas contêm sua própria ficcionalidade, tecidas com fios de muitas outras
vozes, e não têm a pretensão de abarcar o amplo cenário dos estudos e pesquisas em
torno da formação do leitor. Sendo assim, caminham com certa liberdade, e também
esperança, de convidar diferentes leitores à leitura literária.
As seis propostas a seguir são inspiradas, além de outros textos e autores, nas
Seis propostas para o próximo milênio, de Italo Calvino (1990), especialmente pelo que
autor anuncia, logo nas primeiras páginas, sobre os “valores, qualidades,
especificidades” a serem preservadas na literatura (CALVINO, 1990, p. 11).
A perspectiva de que a literatura contempla algo a ser preservado convoca, mais
uma vez, à posição ética dos que ocupam o lugar de formadores de leitores, mesmo de
leitores de literatura. Como fazer jus ao seus valores, qualidades e especificidades?
Tarefa que se impõe e convoca à atuação ética que, em alguma medida, se aproxima das
propostas de Calvino (leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade) e de sua
prerrogativa de que “[...] minha confiança no futuro da literatura consiste em saber que
há coisas que só a literatura com seus meios específicos pode nos dar” (p. 11). O futuro
da literatura pode contemplar outras dimensões da vida e da humanidade?
Artigos – Nazareth Salutto 119
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
As seis propostas são: (1) começar por si; (2) fazer do tempo companheiro; (3)
ter o outro como cúmplice; (4) ter a cultura como aposta; (5) assumir a literatura como
alteridade; (6) não ficar em si mesmo.
2 Seis proposições para a formação do leitor de literatura
Proposta um – COMEÇAR POR SI
No livro O caminho do homem segundo o pensamento chassídico, Martin Buber
(2006), filósofo do diálogo, compilador de histórias hassídicas, sugere como um dos
caminhos começar consigo mesmo:
Trata-se apenas de começar consigo mesmo, e nesse momento não
devo me preocupar com nada no mundo senão esse começo. Qualquer
outra atitude me desvia do meu começo, enfraquece minha iniciativa,
frustra o empreendimento audaz e poderoso. O ponto arquimediano no
qual posso movimentar o mundo a partir do meu lugar é minha própria
transformação. (p. 32).
Se a formação do leitor exige uma rede que envolve mediação, condições
materiais, entre outros aspectos, ter como aposta começar por si, poderia contradizer o
caminho. Contudo, começar por si, no sentido aqui proposto, significa assumir a esfera
subjetiva entre aquele que lê e a palavra do outro. Um encontro subjetivo radical,
autoral, no qual a mediação se dá pela estética da palavra. O que a leitura provoca no
leitor? O que faz um leitor com aquilo que lê? Desse modo, começar por si implica uma
perspectiva de formação do leitor a partir da ideia de movimentar o mundo a partir do
meu lugar e, em alguma medida, essa proposta se relaciona ao comprometimento do
leitor diante do texto literário. Mas, também, pode tratar do encontro com a literatura
como empreendimento audaz e poderoso que envolve o pensamento, a palavra e a
ação, sugerindo que ir ao encontro da literatura trata da força humanizadora do sujeito
no mundo, porque o primeiro caminho é a humanização de nós mesmos. Muitas vezes,
no contexto da formação de adultos, a literatura é um encontro inaugural que se dá,
pelas mãos e voz de outra pessoa. Mas, a partir do encontro, o que cada um faz com a
força desse empreendimento?
Pelas mãos de Graciliano Ramos (2013), no autobiográfico Infância, toma-se
conhecimento do menino para quem a leitura foi construção solitária, atravessada pela
Artigos – Nazareth Salutto 120
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
aspereza de uma vida que o menino enfrentava e temia. Anos mais tarde, ao escrever
suas memórias, o agora autor não teria sido tomado pelo empreendimento audaz e
poderoso de começar por si mesmo?
Leitura.
Largou pela segunda vez a interrogação pérfida. Não me sentia
propenso a adivinhar os sinais pretos do papel amarelo? Foi assim que
que se exprimiu o Tentador, humanizado, naquela manhã funesta. A
consulta me surpreendeu. Em geral não indagavam se qualquer coisa
era do meu agrado: havia obrigações, e tinha de submeter-me. A
liberdade que me ofereciam de repente, o direito de optar, insinuou-
me vaga desconfiança. Que estaria para acontecer? Mas a pergunta
risonha levou-se a adotar procedimento oposto à minha tendência.
Receei mostrar-me descortês e obtuso, recair na sujeição habitual.
Deixei-me persuadir, sem nenhum entusiasmo, esperando que os
garranchos do papel me dessem as qualidades necessárias para livrar-
me de pequenos deveres e pequenos castigos. Decidi-me. [...]”.
(RAMOS, 2013, p. 31).
A decisão do menino Graciliano teve consequências no seu corpo e, por longo
tempo, na sua relação com as palavras e seus segredos ocultos. Mais tarde, ao escrever
suas memórias, o escritor reinventa a própria narrativa. Perdoa o pai, acolhe o menino,
revelando ser possível começar, a partir de si mesmo, trajetória nova no encontro com a
literatura e, no seu caso, no ofício de a escrever. Fez linguagem prosa poética da crueza
de suas experiências. Ao começou por si, revirou as próprias memórias e, pela e na
palavra, tomou de sua história.
Experiência contrária à de Todorov (2009):
Eu podia satisfazer minha curiosidade, viver aventuras, experimentar
temores e alegrias, sem me submeter às frustrações que espreitavam
minhas relações com os garotos e garotas da minha idade e do meu
meio social. Não sabia o que queria fazer da minha vida, mas estava
certo de que teria a ver com a literatura. (p. 16).
Para os dois leitores, literatura e rememoração caminharam lado a lado e
reinventam a produção de sentidos. Considerar a formação do leitor de literatura como
aposta decisiva de começar por si significa implicação do sujeito: por que leio ou não?
Como sou tocado pelo que leio? O que faço com o que leio?
Essa primeira proposta converge à ideia do direito como algo instaurado na
pessoa que lê mobilizada pelo seu desejo. Todos carregam uma história da qual se
Artigos – Nazareth Salutto 121
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
lembram e a qual podem narrar. História que provoca atualizar o presente como leitores
não só dos livros, mas também da vida, da esfera social,
[...] mas, para que o homem alcance esse grande feito, ele precisa
primeiro – partindo de todos os penduricalhos de sua vida – chegar ao
seu “eu”, ele precisa se encontrar, não o eu evidente do indivíduo
egocêntrico, mas o “eu” profundo da pessoa que vive numa relação
com o mundo. (BUBER, 2006, p. 34).
Começar por si trata de compreender tanto a força motriz que se dá no encontro
com a literatura como tecer a urdidura que a faz permanecer viva, atual e presente na
vida.
Proposta 2 – TER O TEMPO COMO COMPANHEIRO
Na Odisseia (2009), o personagem de Ulisses embarca para a guerra de Troia e,
durante anos, não se tem notícias suas. Com o passar do tempo, Penélope, sua esposa, é
incentivada por seu pai a casar-se novamente. Para escapar de um novo matrimônio,
mas temendo a ira do pai, Penélope aceita a corte de novos pretendentes com a condição
de só se casar quando terminasse de tecer uma túnica para o pai de seu amado. Como
estratégia, Penélope tece durante o dia e, à noite, secretamente, destece o bordado.
Driblando o tempo, a heroína faz com que seu trabalho seja interminável, enquanto
espera pelo regresso de seu amado Ulisses.
A dimensão do tempo é tomada na sua face subjetivamente tramada em oposição
ao tempo linear, cronológico, disciplinador presente em muitas instituições e práticas
em torno da leitura literária. O tempo como companheiro convoca o leitor a encontrar e
habitar a casa de dentro. Desse modo, é também sobre o tempo da fantasia, da
fabulação, por sua natureza mais plástico e alargado que o tempo contado no relógio;
regido por Aion, deus da mitologia grega do tempo vindouro. Ler literatura e ter o
tempo como companheiro significa descoordenar, provocar um curto circuito na
objetividade do tempo exterior à temporalidade subjetiva daquele que lê. Onde ler?
Como ler? É possível voltar ao mesmo livro? Há tempo definido para leitura? Há tempo
para experimentar a literatura de modo plástico, estendido num tempo medido pelo
valor subjetivo dos afetos?
Parece ser esse tempo que Clarice Lispector convoca em Um sopro de vida
(1999):
Artigos – Nazareth Salutto 122
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
Fiquei sozinha um domingo inteiro. Não telefonei para ninguém e
ninguém me telefonou. Estava totalmente só. Fiquei sentada num sofá
com o pensamento livre. Mas no decorrer desse dia até a hora de
dormir tive umas três vezes um súbito reconhecimento de mim mesma
e do mundo que me assombrou e me fez mergulhar em profundezas
obscuras de onde saí para uma luz de ouro. Era o encontro do eu com
o eu. A solidão é um luxo. (p. 66-67).
A autora narra sobre o sentimento de encontrar-se consigo mesma mediante a
luxuosa companhia da solidão. E, o leitor toma conhecimento dessa possibilidade na sua
palavra literária. Pela palavra que endereça ao outro, Clarice provoca que o leitor
vagueie pela casa de dentro, pela subjetividade. Não seria, a proposta de assumir o
tempo como companheiro constituidor do direito do leitor, um luxuoso direito de
humanização? Para Candido,
[...] a produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo
articulado. Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que
geralmente se pensa. A organização da palavra comunica-se ao nosso
espírito e o leva, primeiro, a se organizar; em seguida, organizar o
mundo. (2011, p. 79).
Ter o tempo como companheiro significa assumir que entre leitor e texto
literário existe um encontro que mobiliza esferas subjetivas que rompem com o tempo
lógico de aproximação, porque é um encontro entre olhos e palavras; entre a
subjetividade de quem lê com a de quem escreve. O tempo opera no intervalo do
encontro, abrindo possibilidades plásticas para a produção de sentidos. Tempo, desse
modo, trata de respeito aos processos de humanização pretendidos pela literatura.
Proposta três – TER O OUTRO COMO CÚMPLICE
Se uma proposta de formação do leitor não toma o outro como cúmplice, a
literatura não exerce seu papel, tornando os textos literários “[...] anões sentados em
ombros de gigantes.” (TODOROV, 2009, p. 31). Ter o outro como cúmplice admite
tanto o outro da palavra literária quanto àquele(s) ao(s) qual(ais) o sujeito se dirige,
partilha, convida para os sentidos que a leitura provoca, assumindo o dialogismo como
condição de ser leitor. Esse convite, tantas e significativas vezes, se dá na própria
palavra literária:
Artigos – Nazareth Salutto 123
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
O homem que chegou aos quarenta anos pescava, cozinhava para si os
peixes com paciência e cuidado, sentava-se à mesa a ouvir quem ia
estender-se ao sol ou jogar bola ali ao pé do mar. Ouvia aquela
companhia, que era uma réstia de companhia ou companhia nenhuma,
e comia os seus peixes a pensar que tinha de haver solução. Decidiu
que sairia à rua dizendo às pessoas que era um pai à procura de um
filho. Queria saber se alguém conhecia uma criança sozinha. Dizia às
pessoas que vivia no bairro dos pescadores, porque era um pescador, e
dizia que os amores lhe tinham falhado, mas que os amores não
destruíam o futuro [...]. E muito pouco lhe importava o disparate, tinha
nada de vergonha e sonhava tão grande que cada impedimento era
apenas um pequeno atraso, nunca a desistência ou a aceitação da
loucura. Pensava que quando se sonha tão grande a realidade aprende.
(MÃE, 2011, p. 12-13).
A ideia de que quando se sonha tão grande a realidade aprende, manifesta na
poética de Valter Hugo Mãe, torna-se arrebatadora. O mundo se sonha e se projeta na
articulação de muitas vozes. O homem sonha e, junto a sonhos de outros homens, o
mundo tem se reinventado. Trata-se de uma premissa que não é óbvia, nem tampouco
assumida nos contextos de formação. A literatura tem estado a serviço de promover
encontros – com o outro da palavra literária, com o outro sujeito de escuta e partilha –
ou do pragmatismo? Para Torodov (2009), o ensino de literatura tem se ocupado do
pragmatismo. Estuda-se as formas da literatura, mas não seu conteúdo que é a própria
palavra poética e, no seu entendimento, é preciso ir além, escapar das formas restritas
que enformam a literatura, porque “[...] as obras existem sempre dentro e em diálogo
com um contexto; não apenas os meios não devem se tornar o fim, nem a técnica nos
deve fazer esquecer o objetivo do exercício [...].” (p. 32).
Na e pela palavra literária, escavando seus sentidos, pode-se assumir o outro
como cúmplice. Em Mãe, na narrativa O filho de mil homens (2011), o sonho de ter um
filho trata da busca de um outro com quem compartilhar vida e experiências. O
pescador busca um filho não porque estivesse entediado de viver só, mas pela procura
do vínculo, do laço que conecta um homem a outro.
Em que medida a literatura é tomada como chave dialógica de encontro com o
outro? A cumplicidade com o outro extrapola o ensino da literatura e visa buscar esse
outro como interlocutor na partilha das inquietações que a experiência da literatura
provoca – alegrias, assombros, dúvidas, incertezas, discordâncias, conciliações, amor,
ódio, inveja –, sentimentos humanos que se tornam admitidos e legítimos quando
trocados com o outro.
Artigos – Nazareth Salutto 124
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
Proposta quatro – TER A CULTURA COMO CHAVE
Ter a cultura como chave e a literatura como enfrentamento do mundo. Se a
realidade da vida confronta, desarruma, inquieta, dilacera, a literatura, com seu poder de
reinvenção, porque toma a vida como seu conteúdo, torna-se ação política e ética. Já
não se está na esfera do si mesmo apenas, mas agindo na esfera social e política quando
se assume a diversidade cultural como chave dialógica e responsiva de ação. Ler
literatura, sob os aspectos aqui argumentados, transita na interface com a
responsabilidade:
Todos sabemos que a nossa época é profundamente bárbara, embora
se trate de uma barbárie ligada ao máximo de civilização [...]. Se as
possibilidades existem, a luta ganha maior cabimento e se torna mais
esperançosa, apesar de tudo o que o nosso tempo apresenta de
negativo. Quem acredita nos direitos humanos procurar transformar a
possibilidade teórica em realidade empenhando-se em fazer coincidir
uma com a outra. Inversamente, um traço sinistro do nosso tempo é
saber que é possível a solução de tantos problemas e no entanto não se
empenhar nela. (CANDIDO, 2011, p. 172).
A literatura pode ser a arena possível para enfrentar temas pungentes e atuais da
cultura. Por sua capacidade de reunir e fazer conviver diferentes vozes, por sua
diversidade e capacidade dialógica pode acolher o debate das diferenças, da tolerância,
daquilo que inibe, que assombra, que rechaça. A literatura pode ser acolhimento
quando, na voz do outro, encontra-se eco do que provoca e não se tem coragem de
proferir em voz alta. O encontro com a cultura, manifesta na palavra literária, comporta
o silêncio.
Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos, que
emagreceram. As mãos já não são minhas: são mãos de velho, fracas e
inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Impossível trabalhar.
[...] Não posso pagar o aluguel da casa. Dr. Gouveia aperta-me com
bilhetes de cobrança. Bilhetes inúteis, mas dr. Gouveia não
compreende isto. Há também o homem da luz, o Moisés das
prestações, uma promissória de quinhentos mil-réis, já reformada. E
coisas piores, muito piores. (RAMOS, 2013, p. 7).
O que seriam “coisas piores, muito piores”? O autor deixa suspenso, em ponto
final. A cultura, como esse conjunto de valores e regras que ordenam a vida social,
instiga suas dores e desafios, mas também se faz chave para entendimentos.
Artigos – Nazareth Salutto 125
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
Proposta cinco – RECONHECER A LITERATURA COMO ALTERIDADE
A alteridade se constitui como marca da experiência humana (CANDIDO,
2011), embora nem sempre seja assim reconhecida. A literatura carrega a alteridade em
sua gênese, pela natureza de sua constituição, porque é sempre a voz de alguém que
dedicou tempo a construir uma ideia, uma trama, um drama, uma polissemia de vozes e
imagens que ocupam sua função no texto. A literatura é alteridade quando coloca o
homem frente à realidade do mundo e do outro. Não para analisá-la, mas para suportar a
radical humanidade do mundo, porque “[...] as forças sociais, políticas, étnicas e
psíquicas, das quais o texto literário supostamente deveria ser consequência; ou, ainda
os efeitos desse texto, sua difusão, seu impacto no público, sua influência sobre outros
autores [...]” (TODOROV, 2009, p. 38) impactam na consciência daquele que lê e,
desse modo, pode redimensionar seu próprio lugar no mundo.
De modo poético, na trilogia “Areias do Imperador”, encontramos resposta a
essas reflexões nas palavras de Mia Couto (2015). O primeiro livro da trilogia,
Mulheres de cinza, narra a saga de Imani entre tradição e a iminência brutal de uma
guerra que não cessa de deixar mortos sob seus pés. Em seu desespero, a personagem
entoa um lamento de dor:
Entrei na aldeia completamente nua e pareceu-me que tinha errado no
destino. Nkolalai [a aldeia em que se passa a trama] estava deserta.
Mais do que deserta, dava a ideia de que nunca ali tinha vivido
alguém. Gritei, chorei, derramei-me. As mulheres, aos poucos,
acorreram. Por que gritas, minha filha?, perguntavam. Não sabia
responder. A maior parte das vezes gritamos para deixarmos de nos
escutar a nós mesmos. Por que choras assim?, voltam a perguntar. E
uma vez mais ficaram sem resposta. Não tem palavra quem regressa
dos mortos. [...] Eis o que faz a guerra: a gente nunca regressa a casa.
Essa casa – que outrora foi nossa –, essa casa morre, nunca ninguém
nela nasceu. E não há leito, não há ventre, não há sequer ruína a dar
chão às nossas memórias. (COUTO, 2015, p. 261).
A experiência radical da guerra assumida como perda: da casa material, da casa
interior, subjetiva. O cenário no qual habitava a vida, agora se faz palco das ruínas, onde
não há chão para as memórias.
Os livros, os autores, a palavra literária se torna presença pelas mãos de outro.
Essa também é uma marca da alteridade que afeta os sujeitos, de modo que essa
proposta se relaciona diretamente às práticas que promovem a circularidade da literatura
Artigos – Nazareth Salutto 126
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
nos contextos sociais, de formação, de vida. A literatura como escuta e diálogo no
exercício de ir ao encontro da alteridade e, mais ainda, suportar a alteridade como
condição de se estar vivo. Assumir a alteridade como elemento constituinte na formação
do leitor coloca o sujeito frente à realidade do mundo ficcional e real, do outro literário
e real, não como análise que reduz sentidos, mas como palavra que revela a radical
humanidade do mundo. A literatura é alteridade porque coloca diante dos olhos do
mundo aquilo que afeta o outro, que escancara a marca da singularidade humana e sua
potência de sentir de modo diverso, não para responder, classificar ou julgar, mas para
lembrar que os afetos, sejam quais forem, não têm outro endereço que não seja a
morada à qual todos os sujeitos pertencem.
Proposta seis – NÃO PERMANCER EM SI MESMO
Martin Buber aponta como caminho para o homem chassídico começar consigo
mesmo e, do mesmo modo, aconselha-o a não se ocupar consigo mesmo. Toma-se de
empréstimo essa consigna na última proposta:
Aprendemos que cada um deve tomar consciência de si mesmo,
escolher seu caminho especial, unificar o seu ser, começar consigo
mesmo; agora, porém, nos dizem que é para esquecermo-nos de nós
mesmos. Mas, é preciso apenas escutar com atenção para perceber
como isso não apenas é coerente com o que foi falado como também
surge como ingrediente necessário em seu lugar no todo. É preciso
apenas perguntar: “Para quê”. Para que preciso contemplar a mim
mesmo, para que preciso achar meu caminho particular, para que
preciso unificar meu ser? A resposta é: não é por mim. Por isso estava
dito: começar consigo mesmo. Começar consigo, mas não terminar
consigo; partir de si, mas não ter a si mesmo como fim; compreender-
se, mas não se ocupar consigo mesmo. (BUBER, 2006, p. 37-38).
Longe de contradizer a aposta anterior, a premissa não permanecer em si mesmo
busca indagar: por quais caminhos se dá a formação do leitor literário? Por onde
circulam imagens dos sentidos produzidos diante da leitura? Que ouvidos escutam e que
vozes compartilham, socializam essa produção de sentido?
No início, diante da literatura, advogou-se como proposta o comprometimento
do leitor diante do que lê, seja o assombro, a alegria, o torpor, o espanto. Agora, nessa
última proposta, advoga-se pelos gestos responsáveis daquele que dá a ler, cujas mãos
promovem a circularidade da leitura.
Artigos – Nazareth Salutto 127
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
Começar por si mesmo: ir ao encontro da literatura, suportar a alteridade que ela
impõe, assumir a dimensão subjetiva do tempo para ler, imaginar, fantasiar, criar; sair
de si para experimentar outras faces no encontro com a cultura, com o outro, com a
radical alteridade do mundo, ou, para fazer presente a palavra literária, dizer “[...] tive
um sonho nítido inexplicável: sonhei que brincava com o meu reflexo. Mas meu reflexo
não estava num espelho, mas refletia uma outra pessoa que não eu.” (LISPECTOR,
1999, p. 27).
A formação do leitor, nesses termos, toma de empréstimo a imagem do espelho
no movimento circular do caleidoscópio: faz-se necessário começar por si mesmo, mas
fazer os livros, as palavras, a literatura girar, como se o movimento circular fizesse as
ações voltarem ao seu início. E tudo inicia novamente.
Não ficar em si mesmo como aposta coletiva, ética, política, estética de que há
na literatura um encontro marcado com novas chances de compreender e viver a
realidade da vida. Não ficar em si mesmo como parte do compromisso com a formação
do leitor, que é atravessada pelos gestos de todos e de cada um que se ocupa com a
formação humana, visto que “[...] a literatura corresponde a uma necessidade universal
que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar
forma aos sentimentos e à visão de mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e
portanto nos humaniza.” (CANDIDO, 2011, p. 188). Em alguma medida, esta última
proposta reúne as cinco anteriores, pois acredita que a partilha entre os leitores tece
subjetivamente o compromisso com a formação de outros tantos leitores, forjando a
possibilidade, e a potência, de uma comunidade de leitores.
Não permanecer em si mesmo convoca a face mediadora e intencional da
formação do leitor. Entregar um livro não basta, é preciso ir além, como afirma
Todorov. E isso porque
[...] devemos lembrar que além do conhecimento por assim dizer
latente, que provém da organização das emoções e da visão do mundo,
há na literatura níveis de conhecimento intencional, isto é, planejados
pelo autor e conscientemente assimilados pelo receptor. (CANDIDO,
2011, p. 182).
A literatura como conhecimento precisa ser tomada como compromisso ético,
político, estético das instituições de ensino, na contramão da técnica que fragmenta o
saber e a experiência. Começar, mas não terminar em si mesmo pode ser anúncio,
encontro, partilha na formação do leitor.
Artigos – Nazareth Salutto 128
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
3 O que pode, afinal, a literatura como ética, alteridade e direito?
Todorov indaga “o que pode a literatura?” e responde: “a literatura pode muito”
(2009, p. 76). No contexto contemporâneo, no qual a sombra do retrocesso subjaz
práticas baseadas em direitos arduamente conquistados e fragilmente mantidos, a
literatura legitima a voz das diferenças em busca de igualdade, de eco na manutenção
dos direitos individuais e coletivos. A vida, como revelam os autores que comparecem
neste texto, é prenhe de assombro, espanto, dor, vitória, lágrima e luta.
A formação do leitor de literatura deve ter compromisso ético assumido por
muitas esferas – política, institucional, humana –, que implica começar por si, mas não
terminar em si mesmo. Implica o reconhecimento da circularidade da literatura como
direito humano, porque a palavra literária organiza os sentimentos e o sentido de caos
do mundo.
Ler literatura envolve encontros, palavras e ações com livros, entre pessoas, na
partilha das histórias, no enfrentamento dos desafios que constroem conquistas que
garantam condições materiais que tornem possíveis o acesso aos livros, às mediações
que afiancem às pessoas espaços subjetivos e objetivos, para que possam se constituir
leitores de literatura, pois “[...] uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos
humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os
níveis é um direito inalienável.” (CANDIDO, 2011, p. 193).
REFERÊNCIAS
BRASIL. Biblioteca na escola. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Básica, 2006. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola. Acesso em: 2 abr.
2019.
BRASIL. Por uma política de formação de leitores. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2006. Disponível em:
http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/sistema-estadual-de-bibliotecas-
publicas/leituras-recomendadas/100_por_politica_formacao_leitores_v1.pdf. Acesso
em: 2 abr. 2019.
BRASIL. Lei nº 12.244, de 24 maio de 2010. Dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do País. Diário Oficial da União, Brasília, 25
maio, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12244.htm. Acesso em: 2 abr. 2019.
Artigos – Nazareth Salutto 129
Revista FronteiraZ – nº 22 – julho de 2019
BRASIL. Legislação sobre livro e leitura. 2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados,
Edições Câmara, 2013. Disponível em:
http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/14536. Acesso em: 2 abr. 2019.
BUBER, M. O caminho do homem segundo o pensamento chassídico. Trad. Claudia
Abeling. São Paulo: Editora Realizações, 2006.
CALVINO, I. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. São Paulo:
Companhia das Letras, 1990.
CANDIDO, A. O direito a literatura. In: CANDIDO, A. Vários escritos. São Paulo:
Ouro Sobre o Azul, 2011.
COUTO, M. Mulheres de cinza: as areias do imperador. Uma trilogia moçambicana,
livro 1. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
FAILLA, Z. (Org.). Retratos da leitura no Brasil 4. Rio de Janeiro: Sextante, 2016.
LISPECTOR, C. Um sopro de vida. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
HOMERO. Odisseia. Trad. Manoel Odorico Mendes. São Paulo: Montecristo Editora.
[Versão digital]. 2009.
MÃE, V. H. O filho de mil homens. São Paulo: Cosacnaif, 2011.
QUEIRÓS, B. C. de. Sobre ler, escrever e outros diálogos. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2012.
RAMOS, G. Infância. Posfácio de Cláudio Leitão. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013.
[e-book].
RAMOS, G. Angústia. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. [e-book].
TODOROV, T. A literatura em perigo. 2. ed. Trad. Caio Meira. Rio de Janeiro:
DIFEL, 2009.
Data de submissão: 20/05/2018
Data de aprovação: 25/10/2018
Artigos – Nazareth Salutto 130
Você também pode gostar
- Eros - Fazendo o Cavalheiro Se A - Baco Achilles 21883Documento201 páginasEros - Fazendo o Cavalheiro Se A - Baco Achilles 21883Daiany Rocha100% (1)
- Avaliação Mensal 8 Ano 1 BimestreDocumento4 páginasAvaliação Mensal 8 Ano 1 BimestreJessica FrancoAinda não há avaliações
- Pathfinder 2E - SPF Ano I - Cenário 01-07 - A Corte Submersa Do ReiDocumento37 páginasPathfinder 2E - SPF Ano I - Cenário 01-07 - A Corte Submersa Do ReiGabriel Seabra100% (1)
- Projeto Pós-DoutoradoDocumento15 páginasProjeto Pós-DoutoradoValci Vieira dos Santos100% (2)
- Golden DawnDocumento30 páginasGolden DawnfamiliadosmagosnormaisAinda não há avaliações
- Farsa de Inês PereiraDocumento7 páginasFarsa de Inês PereiraANACASTROAinda não há avaliações
- O Ceifador de Anjos A Colecao de Fetos - Juliete VasconcelosDocumento249 páginasO Ceifador de Anjos A Colecao de Fetos - Juliete VasconcelosAmanda GabrielaAinda não há avaliações
- Ao Seu Lado - Kasie WestDocumento61 páginasAo Seu Lado - Kasie WestnanetmleiteAinda não há avaliações
- Slides Descritores Do Spaece II Formao 2018Documento40 páginasSlides Descritores Do Spaece II Formao 2018Helô Strega100% (1)
- A Literatura Empenhada em Antonio Candido e Bernardo KucinskiDocumento18 páginasA Literatura Empenhada em Antonio Candido e Bernardo KucinskidukadougAinda não há avaliações
- 3 Referencial TeóricoDocumento3 páginas3 Referencial TeóricoAline Laura100% (1)
- Importancia Leitura Producao Textual EducacionalDocumento15 páginasImportancia Leitura Producao Textual EducacionalVirgilio Magalde100% (1)
- O Discurso Político e Suas Representações Nas Literaturas de Língua InglesaDocumento52 páginasO Discurso Político e Suas Representações Nas Literaturas de Língua InglesaEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações
- Por 1bim 1ano 1ciclo Roteiro de Atividades Vers o Aluno 1Documento9 páginasPor 1bim 1ano 1ciclo Roteiro de Atividades Vers o Aluno 1Rosangela WickAinda não há avaliações
- O Texto Literário Na Perspectiva Histórico Cultural: COSTA, Sueli Silva GorrichoDocumento8 páginasO Texto Literário Na Perspectiva Histórico Cultural: COSTA, Sueli Silva GorrichoJáfer GomesAinda não há avaliações
- Direito Do SurdoDocumento20 páginasDireito Do SurdoNelma MachadoAinda não há avaliações
- UNIDADE IIIDocumento14 páginasUNIDADE IIIpatricia.custodioAinda não há avaliações
- Escrita e Das Falas de Escritores IndígenasDocumento16 páginasEscrita e Das Falas de Escritores IndígenaslpgefafAinda não há avaliações
- Identidade e Diversidade Cultural em MocambiqueDocumento13 páginasIdentidade e Diversidade Cultural em MocambiqueCastigo BenjamimAinda não há avaliações
- Mcotinguiba, o Carater EducadorDocumento15 páginasMcotinguiba, o Carater EducadorProf BrunaAinda não há avaliações
- Linguística Aplicada - Resenha CríticaDocumento4 páginasLinguística Aplicada - Resenha CríticaKlebson PereiraAinda não há avaliações
- A Importância Da Literatura - Textos BaseDocumento4 páginasA Importância Da Literatura - Textos BaseFlavio Junior PoiesisAinda não há avaliações
- A Relevância Do Ensino Da LiteraturaDocumento8 páginasA Relevância Do Ensino Da LiteraturaJoel Joukin BragaAinda não há avaliações
- "Filhos Dos Outros" e "O Filho Eterno": A Interface Entre A Literatura e Os Direitos HumanosDocumento11 páginas"Filhos Dos Outros" e "O Filho Eterno": A Interface Entre A Literatura e Os Direitos HumanosLucas Da Silva MartinezAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira002Documento37 páginasLiteratura Brasileira002allinyraiannyAinda não há avaliações
- 16 Literatura de Massa Na Formação Do Leitor LiterárioDocumento10 páginas16 Literatura de Massa Na Formação Do Leitor LiterárioJeovana LimaAinda não há avaliações
- 05+-+Totonha+-+8340Documento4 páginas05+-+Totonha+-+8340LuizaMarettoAinda não há avaliações
- Literatura Luso - BrasileiraDocumento9 páginasLiteratura Luso - BrasileiraElvis Da Maidei ZinioAinda não há avaliações
- Os Descendentes de O Capote Em Nome de Família, De Mira Nair (2006)Documento222 páginasOs Descendentes de O Capote Em Nome de Família, De Mira Nair (2006)Rafael Sarto MullerAinda não há avaliações
- Ensaio Crítico Sobre o Espaço Da Literatura Na EscolaDocumento5 páginasEnsaio Crítico Sobre o Espaço Da Literatura Na EscolaMatheus SantosAinda não há avaliações
- Antonio Candido o Direito C3a0 Ltteratura Trechos EscolhidosDocumento3 páginasAntonio Candido o Direito C3a0 Ltteratura Trechos EscolhidosKelly Cristina SoaresAinda não há avaliações
- Zafalon - Concepções de Literatura, Leitura e LeitorDocumento11 páginasZafalon - Concepções de Literatura, Leitura e LeitorTobias Del CastilloAinda não há avaliações
- Ensaio - O Direito À Literatura - Antonio CandidoDocumento7 páginasEnsaio - O Direito À Literatura - Antonio CandidoGustavo Geo BianchiniAinda não há avaliações
- Paper Preliminar - O Lugar Da Literatura Nos Anos Finais Do Ensino FundamentalDocumento6 páginasPaper Preliminar - O Lugar Da Literatura Nos Anos Finais Do Ensino FundamentalSayonara AmaralAinda não há avaliações
- A Contribuicao Da Literatura para A Formacao CidadaDocumento5 páginasA Contribuicao Da Literatura para A Formacao CidadaMichele Andresa CarvalhoAinda não há avaliações
- Direito à literatura_ uma necessidade social – Coletivo LeitorDocumento5 páginasDireito à literatura_ uma necessidade social – Coletivo LeitorEmef Henrique Guilhermino BarbosaAinda não há avaliações
- INTRODUCAO AO ESTUDO LITERARIODocumento22 páginasINTRODUCAO AO ESTUDO LITERARIOLuis John SimangoAinda não há avaliações
- A Desigualdade Social em O Bicho de Manuel BandeiraDocumento11 páginasA Desigualdade Social em O Bicho de Manuel BandeiraMarcos Vinicius LeiteAinda não há avaliações
- Resenha Circulo de Leitura CossonDocumento12 páginasResenha Circulo de Leitura CossonMário Augusto SilvaAinda não há avaliações
- M.-J. Simões - Imagotipos LiteráriosDocumento46 páginasM.-J. Simões - Imagotipos Literárioshugo.costacccAinda não há avaliações
- Artigo Revista Encontros de VistaDocumento7 páginasArtigo Revista Encontros de VistaJoao Batista PereiraAinda não há avaliações
- E1415-11111-Texto Do artigo-111111-1-Roberto-Gabriela-DOSSIE-VF-apDocumento5 páginasE1415-11111-Texto Do artigo-111111-1-Roberto-Gabriela-DOSSIE-VF-apS. LimaAinda não há avaliações
- Frank MarconDocumento9 páginasFrank MarconSilvio De Almeida Carvalho FilhoAinda não há avaliações
- A Literatura Como Sistema - Haroldo Ceravolo Sereza - Revista Pesquisa FapespDocumento7 páginasA Literatura Como Sistema - Haroldo Ceravolo Sereza - Revista Pesquisa FapespLlama VicuñaAinda não há avaliações
- Produto Da Dissertação Jociele Barcelos CorrêaDocumento28 páginasProduto Da Dissertação Jociele Barcelos Corrêanayaraines2263Ainda não há avaliações
- Conto Travessia LiberdadeDocumento8 páginasConto Travessia LiberdadeAline MoraisAinda não há avaliações
- 42-Texto Do Artigo-116-1-10-20180405Documento22 páginas42-Texto Do Artigo-116-1-10-20180405juliana pereiraAinda não há avaliações
- Leitura e Sociedade: Um Estudo de O Primo Basílio, de Eça de QueirózDocumento121 páginasLeitura e Sociedade: Um Estudo de O Primo Basílio, de Eça de QueirózcarolineAinda não há avaliações
- Qual A Importância Da Literatura Na Formação HumanaDocumento13 páginasQual A Importância Da Literatura Na Formação HumanaMonis PaulinoAinda não há avaliações
- Conceito de Literatura SurdaDocumento3 páginasConceito de Literatura SurdaJunior BritoAinda não há avaliações
- O Que É Literatura - Slide PowerpointDocumento11 páginasO Que É Literatura - Slide PowerpointrayssaxxrodriguesAinda não há avaliações
- Apostila Literatura BrasileiraDocumento274 páginasApostila Literatura BrasileiraMônica Gomes da SilvaAinda não há avaliações
- (Estudos Culturais. Por Um Brasil de Mais LeitoresDocumento21 páginas(Estudos Culturais. Por Um Brasil de Mais Leitoreswellington Neves VieiraAinda não há avaliações
- LiteraturaDocumento8 páginasLiteraturamalonamige20Ainda não há avaliações
- A Literatura InfantoDocumento5 páginasA Literatura InfantoMauricio silvaAinda não há avaliações
- Mediação Da Leitura em Bibliotecas Aproximação Às Especificidades Da Leitura LiteráriaDocumento18 páginasMediação Da Leitura em Bibliotecas Aproximação Às Especificidades Da Leitura LiteráriaJadir VianaAinda não há avaliações
- fflores,+Escrevendo+a+homossexualidade+-+PARA+PUBLICAÇÃO Correto Com+páginasDocumento16 páginasfflores,+Escrevendo+a+homossexualidade+-+PARA+PUBLICAÇÃO Correto Com+páginaselectrapoluxAinda não há avaliações
- Antonio Candido o Direito C3a0 Ltteratura Trechos EscolhidosDocumento4 páginasAntonio Candido o Direito C3a0 Ltteratura Trechos EscolhidosLigia De Padua XavierAinda não há avaliações
- Guiadocrocheebook SpessoDocumento14 páginasGuiadocrocheebook SpessoYara FerroAinda não há avaliações
- Abordagem Crítico Cultural de Leitura Literária.Documento15 páginasAbordagem Crítico Cultural de Leitura Literária.wellington Neves VieiraAinda não há avaliações
- Artigo A Importância Da Literatura Como Fonte de PesquisaDocumento10 páginasArtigo A Importância Da Literatura Como Fonte de PesquisaMarisa Soares100% (1)
- Literatura - Da - Vida de Todos Os Dias e de Todos Os Homens - Profa. Rita de Cássia e Flávia BrocchettoDocumento11 páginasLiteratura - Da - Vida de Todos Os Dias e de Todos Os Homens - Profa. Rita de Cássia e Flávia BrocchettoSarah SampaioAinda não há avaliações
- Generos Jornalisticos - Do A Questao - Jorge Lellis MedinaDocumento11 páginasGeneros Jornalisticos - Do A Questao - Jorge Lellis MedinaEliaquim MaiaAinda não há avaliações
- Duas Palavras Sobre LiteraturaDocumento4 páginasDuas Palavras Sobre LiteraturaDiana SorgatoAinda não há avaliações
- LITERATURA CENSURADA O POLITICAMENTE (IN) CORRETO NA LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS - Danilo Fernandes Sampaio de SouzaDocumento15 páginasLITERATURA CENSURADA O POLITICAMENTE (IN) CORRETO NA LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS - Danilo Fernandes Sampaio de SouzaMaíra Zibordi100% (1)
- Funções Da LiteraturaDocumento8 páginasFunções Da LiteraturaAssaxnho OmarAinda não há avaliações
- E1409-14319-Texto Do artigo-54524-1-Gabriela-DOSSIE-VF-apDocumento19 páginasE1409-14319-Texto Do artigo-54524-1-Gabriela-DOSSIE-VF-apS. LimaAinda não há avaliações
- Pesquisa - Influência Da Tecnologia No Processo de LeituraDocumento12 páginasPesquisa - Influência Da Tecnologia No Processo de LeiturakledsonribeiroAinda não há avaliações
- A Escrita Clariceana Como Possibilidade de LiberdadeDocumento17 páginasA Escrita Clariceana Como Possibilidade de LiberdadeElias BarrosoAinda não há avaliações
- ANAIS COM RESUMOS ORIENTAÇÕES Enviar Resumo - Congresso de Educação - Práticas Digitais - EDUDIGICON - 1 EdiçãoDocumento3 páginasANAIS COM RESUMOS ORIENTAÇÕES Enviar Resumo - Congresso de Educação - Práticas Digitais - EDUDIGICON - 1 EdiçãoHelô StregaAinda não há avaliações
- A Raposa e As Uvas PDFDocumento11 páginasA Raposa e As Uvas PDFHelô StregaAinda não há avaliações
- Conversa-sobre-Pesquisa REGINA LEITE GARCIA PROFESSORA PESQUISADORADocumento11 páginasConversa-sobre-Pesquisa REGINA LEITE GARCIA PROFESSORA PESQUISADORAHelô StregaAinda não há avaliações
- Olhar Sinestésico Poema PDFDocumento1 páginaOlhar Sinestésico Poema PDFHelô StregaAinda não há avaliações
- Dicionário de AcordesDocumento69 páginasDicionário de AcordesHelô StregaAinda não há avaliações
- Manual de PortfólioDocumento8 páginasManual de PortfólioHelô StregaAinda não há avaliações
- Nove Teses Da Infância Como Um Fenômeno Social Jens Qvortrup PDFDocumento13 páginasNove Teses Da Infância Como Um Fenômeno Social Jens Qvortrup PDFHelô StregaAinda não há avaliações
- Candido O Direito À LiteraturaDocumento25 páginasCandido O Direito À LiteraturaHelô StregaAinda não há avaliações
- Bottman, Denise Lima Barreto em TraducaoDocumento18 páginasBottman, Denise Lima Barreto em Traducaocroca1981Ainda não há avaliações
- 05 - Séries - de Onde Vieram e Como São FeitasDocumento5 páginas05 - Séries - de Onde Vieram e Como São FeitasLUIZ GEHLENAinda não há avaliações
- Colonnese Me PDFDocumento157 páginasColonnese Me PDFAlgumCaraAinda não há avaliações
- RP - 05 - Tecer As Ideias Com Os Outros FilosofandoDocumento16 páginasRP - 05 - Tecer As Ideias Com Os Outros FilosofandoMarcelo VictorAinda não há avaliações
- LITERATURA AFRODESCENDENTE NO RIO GRANDE DO NORTE NO SÉCULO XX (De Fabião Das Queimadas A Edgar Borges-Blackout)Documento72 páginasLITERATURA AFRODESCENDENTE NO RIO GRANDE DO NORTE NO SÉCULO XX (De Fabião Das Queimadas A Edgar Borges-Blackout)Midiã EllenAinda não há avaliações
- Texto Do artigo-LÍNGUAS CLÁSSICAS É POSSÍVEL AFIRMAR SUA EXISTÊNCIA NO BRASILDocumento23 páginasTexto Do artigo-LÍNGUAS CLÁSSICAS É POSSÍVEL AFIRMAR SUA EXISTÊNCIA NO BRASILTiago MesquitaAinda não há avaliações
- Plano de Curso - Fundamentos Met. Língua PortuguesaDocumento4 páginasPlano de Curso - Fundamentos Met. Língua PortuguesaAna Cláudia SantosAinda não há avaliações
- Apostila de Desenho Para Iniciantes PDF Gratis Livro Crie Formas Tonalize e TexturizeDocumento34 páginasApostila de Desenho Para Iniciantes PDF Gratis Livro Crie Formas Tonalize e Texturizerenatorec0000Ainda não há avaliações
- Roteiro de Estudo - 8º Ano - Geografia, Prof. Capri: Tema Central: POPULAÇÃO MUNDIAL & MIGRAÇÕES - DiversidadeDocumento4 páginasRoteiro de Estudo - 8º Ano - Geografia, Prof. Capri: Tema Central: POPULAÇÃO MUNDIAL & MIGRAÇÕES - DiversidadePaulo GomesAinda não há avaliações
- A Sociedade em Rede e A CiberculturaDocumento14 páginasA Sociedade em Rede e A CiberculturaAden LamounierAinda não há avaliações
- Anexo N° 02 - RT-001Documento2 páginasAnexo N° 02 - RT-001Cássia RosaAinda não há avaliações
- Gênero Textual: Fábula: PersonagensDocumento28 páginasGênero Textual: Fábula: PersonagensKeila RodriguesAinda não há avaliações
- Atividades Sobre ArtigoDocumento7 páginasAtividades Sobre ArtigoPatricia AraujoAinda não há avaliações
- Resenha Critica - Amor Sem EscalaDocumento2 páginasResenha Critica - Amor Sem EscalaFábio Alex50% (2)
- Memorias Das Trevas - Uma Devassa Na Vida de Antônio Carlos Magalhães (Joao Carlos Teixeira Gomes) (Z-Library)Documento818 páginasMemorias Das Trevas - Uma Devassa Na Vida de Antônio Carlos Magalhães (Joao Carlos Teixeira Gomes) (Z-Library)Victor PortoAinda não há avaliações
- Trabalho de PortuguêsDocumento4 páginasTrabalho de PortuguêsKayque Figueiredo MachadoAinda não há avaliações
- Lista de Livros 2023 8° Ano TF - Docx 1Documento5 páginasLista de Livros 2023 8° Ano TF - Docx 1Mães ReciclaAinda não há avaliações
- Manual de Escrita Criativa ExcertoDocumento17 páginasManual de Escrita Criativa ExcertoKamila CostaAinda não há avaliações
- OS MAIAS AnaliseDocumento8 páginasOS MAIAS Analisepratapaula2Ainda não há avaliações
- Manual tx133 PDFDocumento84 páginasManual tx133 PDFAliceKeikoAinda não há avaliações