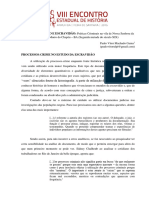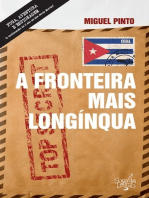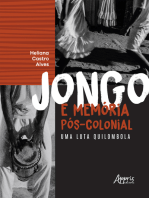Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Etnografica 6643
Enviado por
Victor Hugo BernalDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Etnografica 6643
Enviado por
Victor Hugo BernalDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Etnográfica
Revista do Centro em Rede de Investigação em
Antropologia
vol. 23 (2) | 2019
Vol. 23 (2)
Edição electrónica
URL: https://journals.openedition.org/etnografica/6643
DOI: 10.4000/etnografica.6643
ISSN: 2182-2891
Editora
Centro em Rede de Investigação em Antropologia
Edição impressa
Data de publição: 1 junho 2019
ISSN: 0873-6561
Refêrencia eletrónica
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019, «Vol. 23 (2)» [Online], posto online no dia 01 junho 2019, consultado o 26
janeiro 2022. URL: https://journals.openedition.org/etnografica/6643; DOI: https://doi.org/10.4000/
etnografica.6643
Este documento foi criado de forma automática no dia 26 janeiro 2022.
Etnográfica is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
License.
1
SUMÁRIO
Artigos
La carpeta de Simone: objetos, género y extranjería en la experiencia carcelaria
María Ruiz Torrado
Entre a política e a técnica: prática jurídica no Supremo Tribunal Federal brasileiro
Andressa Lewandowski
“Y nosotros, ¿qué ganamos?”: identificaciones en el trabajo de campo etnográfico con
cuadrillas juveniles en Costa Rica
Onésimo Rodríguez Aguilar
Metáforas térmicas: turistas europeus no Nordeste brasileiro narrando a intimidade
Octávio Sacramento
A vida na cidade e a invenção da “cultura”: imagens de desenvolvimento a partir da “roça”
Gustavo Meyer
Políticas da hierarquia e movimentos da política no alto Rio Negro: algumas transformações
indígenas
Aline Iubel e Piero Leirner
Memória
Sobre a distância entre a “situação colonial” em Moçambique e o luso-tropicalismo: carta de
António Rita Ferreira para Jorge Dias, com artigo anexo
Cláudia Castelo e Vera Marques Alves
Dossiê "Entre seres intangíveis e pessoas: experiência e história"
Entre seres intangíveis e pessoas: uma introdução
Emília Pietrafesa de Godoi e Marcelo Moura Mello
“A família de Légua está toda na eira”: tramas entre pessoas e encantados
Martina Ahlert e Conceição de Maria Teixeira Lima
Variações sobre “livusias”: coincidência entre a terra e os (fins de) mundos contidos numa
ilha no rio São Francisco, Brasil
Márcia Nóbrega
No-humanos que hacen la historia, el entorno y el cuerpo en el Chaco argentino
Florencia Tola
Ontologia da confusão: Exu e o Diabo dançam o “Samba do Crioulo Doido”
Moisés Lino e Silva
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
2
Artigos
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
3
La carpeta de Simone: objetos,
género y extranjería en la
experiencia carcelaria
Simone’s folder: objects, gender and foreign status in prison experience
María Ruiz Torrado
Introducción
1 La primera vez que vi la carpeta de Simone nos encontrábamos las dos solas en el salón
de su casa, compartiendo una tranquila y agradable sobremesa, tras haber disfrutado
de una deliciosa comida preparada por ella.1 Era a principios del mes de marzo de 2014.
Hasta aquel momento, Simone nunca había hecho mención de esa carpeta. No obstante,
hacía ya varios años que nos conocíamos y habíamos mantenido muchas
conversaciones, formales e informales, sobre las vivencias documentadas en su
archivador. Nos habían presentado a mediados de septiembre de 2011, en la casa de
acogida de una asociación religiosa, en el contexto de un estudio antropológico sobre
género y prisión.2 Por aquel entonces, Simone residía en esa casa, junto con varios
hombres y mujeres que, al igual que ella, habían estado encarcelados. Simone se había
acogido al programa de “integración social” de la asociación, al ser esa su única opción
para poder salir del encierro penitenciario antes de completar su condena. Estaba en
régimen abierto, a la espera de libertad condicional, y cada quince días debía
presentarse en el centro penitenciario para “firmar”. Yo, en cambio, había acudido a la
casa con una compañera de investigación, dispuesta a entrevistar a una mujer ex-presa,
con el propósito de llevar a cabo la primera de una serie de entrevistas en profundidad.
Esa primera entrevistada resultó ser Simone y, así, en el tiempo que pasamos juntas,
nos relató sus experiencias en prisión, visiblemente afectada casi en todo momento.
Magnífica narradora, con una gran capacidad para expresar mediante palabras sus
emociones y dotada de una sensibilidad especial, nos hizo adentrarnos en su valioso
testimonio, muy rico en matices. Conectamos bien y nos despidió con un fuerte abrazo.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
4
Pero, aunque en ese momento no lo sabíamos, en realidad no fue una despedida, sino el
comienzo de una relación de amistad que continúa en la actualidad.
2 El día en que Simone me mostró por primera vez su carpeta habíamos quedado para
comer juntas en su casa. El tema de la cárcel surgió de improviso en la conversación,
como en muchas otras ocasiones, al ser parte de su experiencia vital y estar yo inmersa
en la realización de una tesis doctoral sobre mujeres encarceladas. 3 En un momento
dado, ella se levantó de su asiento y se dirigió a su dormitorio, regresando a los pocos
minutos con una carpeta en las manos. Volvió a sentarse a mi lado y abrió el
archivador. La única explicación que me dio sobre toda la documentación ahí guardada
fue que había ido recopilando y almacenando todos los documentos relativos a su paso
por la prisión de Martutene (País Vasco).4 Había muchísimos escritos, de muy diversa
índole, pero unos pequeños post-it azules fueron los que captaron su atención. Comenzó
a leerlos y a traducírmelos del portugués brasileño al español, explicándome que en
esos pequeños papelitos había escrito lo que deseaba decirle a su hermana al ingresar
en prisión, pese a no ser capaz de hacerlo, por la vergüenza y el sentimiento de
culpabilidad que le generaba su situación. Al cabo de unos días, muy impactada todavía
por el escrito de Simone, le planteé la posibilidad de utilizar ese material en mi tesis
doctoral, que trataba sobre las desigualdades de género, las prácticas de resistencia
cotidianas y la agencia de las mujeres encarceladas en el País Vasco. 5 Ella accedió muy
generosamente.
3 En este artículo, escrito varios años después de las escenas descritas, pretendo retomar
la carpeta de Simone para abordar las interacciones entre sujeto y objeto, y analizar el
contenido de todos los documentos guardados – documentos que en su día no examiné,
ni siquiera hojeé –. Así, utilizando la carpeta de Simone como eje, convirtiendo sus
numerosos y diversos archivos en hilo conductor, profundizaré en el significado del
encarcelamiento para una mujer de origen extranjero en el País Vasco. A través de un
único caso, concreto e ilustrativo, intentaré reflejar las desigualdades de género, clase
social y etnia/raza presentes en el sistema penitenciario, así como la agencia y algunas
de las prácticas de resistencia que las mujeres encarceladas llevan a cabo para mitigar
los efectos del encarcelamiento y hacer la reclusión un poco más llevadera o soportable.
Para ello, recurriré a las aportaciones de la antropología feminista (Thurén 1993;
Méndez 2008) y de la antropología de los objetos (Alonso Rey 2012, 2016, 2017).
Simone y su carpeta: encuentros, narraciones,
emociones
4 Simone nació en una gran ciudad brasileña en el año 1977. Ella explica que en su país
llevaba una vida “normal y corriente”. Estudiaba y trabajaba, tenía un grupo de
amistades amplio y unos lazos familiares fuertes y estables. Sin embargo, con la
intención de dejar atrás algunas malas noticias que habían trastocado un poco su vida,
así como por conocer otros contextos culturales, en 2006 emigró al País Vasco,
aprovechando que tenía un contacto allí. A los pocos meses de llegar, para ganar
dinero, comenzó a trabajar limpiando un club de prostitución. Allí vivió dos redadas de
la Policía Nacional española. En la primera redada, la detuvieron por encontrarse en
situación irregular, sin permiso de residencia ni trabajo; pero le dieron una carta de
expulsión y la dejaron libre. En la segunda, en cambio, fue detenida, porque una
compañera del club guardó unas bolsitas de cocaína en la mochila de Simone y fueron
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
5
encontradas por la Policía. Tras pasar tres días en un calabozo, la dejaron en libertad a
la espera de un juicio, que se realizó a los dos años. Acusada de un delito contra la salud
pública, fue condenada a una pena de cuatro años de prisión. La jueza, no obstante, en
lugar de esa condena, ordenó que Simone fuera expulsada del Estado español. 6 Pero ella
decidió no marcharse, porque le parecía vergonzoso tener que regresar de esa forma,
no habiendo cometido el delito del que le acusaban. En ningún momento estuvo del
todo tranquila con ese asunto, aunque tampoco llegó a imaginarse en prisión. El 1 de
septiembre de 2009, estando en otra ciudad con un nuevo empleo como cuidadora
interna, la Ertzaintza (Policía Autonómica del País Vasco) la detuvo y la encarceló en la
prisión de Martutene por incumplimiento de la sentencia.
5 La carpeta de Simone, que contiene documentos desde el día que entró en prisión hasta
el día en que logró el tercer grado (régimen abierto), es de cartón azul, con acabado
mate y tamaño folio (figura 1). Podría decirse que es una de esas carpetas “típicas” y
“de toda la vida”, que van más allá de las modas pasajeras. En su exterior no tiene
ninguna inscripción, apunte o anotación sobre lo que hay dentro. Pero al abrirla, al
tiempo que se percibe el característico olor del papel, se descubren 129 documentos
penitenciarios de muy diversa índole, guardados sin ningún orden. Hay documentos
originales y fotocopias, escritos a mano, ordenador o máquina; páginas sueltas,
grapadas, unidas con clips… La mayoría son documentos judiciales y oficiales del centro
penitenciario, pero también hay otro tipo de documentación, como los mencionados
post-it.
Figura 1 – Carpeta de Simone
Foto: María Ruiz Torrado.
6 Al observar a Simone con su carpeta, es posible apreciar una relación de gran
intensidad y carga emocional. Muestra de ello es que cuando le propuse la posibilidad
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
6
de utilizar su carpeta para este artículo, pese a mostrarse tan colaborativa y generosa
como siempre, pude percibir que mi proposición la había removido profundamente, al
referirse al episodio más doloroso de su vida. No obstante, cuando a los días quedamos
para conversar sobre la carpeta y hojear los documentos, estaba tranquila y segura.
Cuando llegué al lugar en el que habíamos quedado, ella estaba de pie ante una mesa,
con la carpeta abierta, repasando su contenido. Enseguida empezó a contarme detalles
sobre la documentación guardada y su paso por prisión. De alguna manera, el contenido
de la carpeta la conectó con toda esa parte de su biografía. Examinó cada una de las
páginas allí presentes, explicándomelas, dándome más detalles y contándome historias
que nunca antes me había relatado. Habló sobre prisión, casi sin pausa, y destacó el
valor de sus documentos, ya que apenas nadie tiene guardados archivos de ese tipo.
Cuando más adelante volvimos a quedar para aclarar algunas de mis dudas, sin
embargo, las malas sensaciones transmitidas por la carpeta volvieron a aflorar. Su voz
sonaba temblorosa y entrecortada. Estaba más callada y pensativa, y hacía más pausas
al hablar.
7 Precisamente, desde ese punto de vista de las emociones, la antropóloga Natalia Alonso
Rey (2012, 2016, 2017) ha defendido el análisis de los efectos y los afectos que los objetos
son capaces de producir – a menudo, inesperadamente – en los sujetos. Según esta
autora, es importante abordar lo que los objetos pueden “hacer” y, para ello, es
necesario profundizar no solo en las narraciones que surgen en los encuentros entre
objeto y sujeto, sino también en las emociones y en las intensidades – entendidas como
capacidad de afectar y ser afectado – que se generan y que posteriormente pueden dar
lugar a significados (Alonso Rey 2016: 43). El objeto no se explica sin el sujeto, pero el
sujeto también necesita del objeto para explicarse a sí mismo, para contar su vida, para
recrearla, así como para sentirla (Alonso Rey 2012: 54). Después de todo, las personas
“hacen” a las cosas como las cosas “hacen” a las personas (Laviolette 2013, en Alonso
Rey 2017: 27). Reflexiones similares sobre cultura material han dado lugar a diversos
enfoques y aproximaciones teóricas sobre la agencia de los objetos o sobre una agencia
compartida entre sujetos y objetos que se transforman mutuamente, campo en el que
han destacado autores como Baudrillard (2010 [1968]), Wagner (1986), Miller (1987),
Appadurai (1988), Latour (1993), Gell (1998), Strathern (1999), Henare, Holbraad y
Wastell (2007) y Hicks (2010). Así, cuestionando las perspectivas más antropocéntricas,
para las cuales los objetos no serían más que meras entidades sobre las que recae la
intencionalidad humana, cada vez es más común reconocer que los objetos también son
agentes, sujetos activos, actores sociales, parte constituyente – y no solamente reflejo o
receptor – de los procesos sociales.
8 Según Alonso Rey (2016), las interacciones de las personas con sus objetos biográficos
pueden ayudarnos a entender muchas de sus experiencias. Los objetos que las personas
guardan son altamente significativos para sus poseedores, porque constan de un claro
poder simbólico y evocativo, que remite a lugares, momentos y relaciones relevantes,
dando lugar a continuidades dentro de las biografías (Alonso Rey 2012: 42). De ese
modo, los objetos sirven para recordar y narrar el pasado, al funcionar como
detonantes de rememoración de acontecimientos pasados. Pero su valía no queda ahí.
Es importante tener claro que, si un objeto ha sido conservado a lo largo del tiempo, no
ha sido por “aquello que fue”, sino por “lo que es” en el presente – incluso por “lo que
pueda ser” en el futuro –. El objeto remite al pasado, pero su importancia no acaba ahí.
Su relevancia está en el presente, en cada una de las ocasiones en que sujeto y objeto se
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
7
encuentran, actualizando las narraciones, reelaborando los significados, en un proceso
dinámico e inacabado de gran intensidad emocional (Alonso Rey 2017: 288-289).
9 En el caso concreto de Simone, no es difícil apreciar la gran importancia que su carpeta
tiene para ella. En su encarcelamiento, guardó y archivó prácticamente toda la
documentación a la que tuvo acceso; y cuando llegó el día de dejar el centro
penitenciario, no dudó en llevarse consigo la carpeta, camuflada entre apuntes de los
estudios universitarios a distancia que realizó en prisión. Desde entonces, nunca se ha
desprendido de la carpeta. Ha cambiado varias veces de residencia y la carpeta siempre
la ha acompañado en los traslados. Estuvo con ella durante todo el tiempo que pasó en
la casa de acogida, siguió con ella cuando se fue a vivir con la que fue su compañera de
celda en prisión, y continúa con ella también en la actualidad, tras haberse ido a vivir
con su pareja. El hecho de no haberse separado nunca de la carpeta indica su
relevancia, al igual que lo hace también la forma en la que ha ido guardándola a lo largo
del tiempo. Tanto en prisión como en el piso que compartía con su ex-compañera de
celda, la carpeta estaba debajo del colchón de su cama, escondida, por motivos de
“seguridad”. En la actualidad, en cambio, la carpeta se encuentra dentro de una caja
con la anotación manuscrita “Documentación Simone”. En cualquier caso, la carpeta
siempre ha tenido un lugar específico, no constantemente visible, recurriendo solo
ocasionalmente a ella. Simone nunca ha podido – ni querido – prescindir de su carpeta,
pero tampoco ha deseado tenerla permanentemente a la vista. En ese sentido, Alonso
Rey (2012) señala que en el caso de los objetos que están guardados, lo más importante
es saber que “están ahí”, otorgarles un lugar y poder recordarlos, aunque no se recurra
a ellos de manera habitual. Se tratarían de objetos casi invisibles, pero presentes en la
memoria; objetos íntimos y privados, que no son para ser expuestos ni compartidos
públicamente. Simone, por ejemplo, en todos estos años solo ha acudido
esporádicamente a su carpeta, y raramente se la ha mostrado a otras personas. No
obstante, siempre ha recordado perfectamente dónde estaba, así como lo que guardaba
en su interior.
10 En cuanto al motivo de haber conservado la carpeta durante todo este tiempo, Simone
me dio dos respuestas distintas. En la primera, contestó que había guardado la
documentación por su situación de extranjera en situación irregular. Según expresó, el
hecho de no contar con “papeles” y no tener cerca a su familia le hacía sentirse
insignificante; como si no existiese del todo, como si fuera invisible, un fantasma, o
sencillamente, nadie. Esa situación le hacía sentirse realmente vulnerable, pero
encontró una forma de hacer frente a dicha sensación, recopilando y guardando su
documentación penitenciaria en una carpeta. Al parecer, para ella ha sido y es una
manera de materializar y reforzar su presencia; una forma de constar, obtener cierto
arraigo, mostrar dónde ha estado y qué ha hecho. Por ello, también afirmó que puede
que, si algún día obtiene el permiso de residencia, queme la carpeta. No obstante, ahora
mismo, ese momento le parece tremendamente lejano. Es más, a día de hoy, a pesar de
haber cumplido ya su condena, asegura que todavía se siente “presa”, por la
imposibilidad de dejar la situación de irregularidad, como consecuencia de tener
antecedentes penales.
11 La segunda respuesta de Simone fue muy distinta. Simplemente, afirmó que no sabe por
qué ha guardado la carpeta todos estos años, que no sabe explicar qué es lo que le ha
llevado a actuar de esa manera. Según esta segunda contestación, Simone no tendría un
relato explicativo de su comportamiento y el registro narrativo no serviría – o, por lo
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
8
menos, no del todo – para dar sentido a su vínculo con la carpeta. Pero Simone planteó
que quizás lo haya hecho porque no ha sido capaz de superar y “cerrar” la etapa de su
vida correspondiente con su encarcelamiento. Al fin y al cabo, la carpeta evoca y
materializa su paso por prisión. La conecta emocionalmente con la cárcel; con ese
espacio, con ese tiempo, con las personas con las que se relacionó. Desde este punto de
vista, Simone no sería capaz de desprenderse de la carpeta, de la misma manera que no
podría despojarse de la experiencia carcelaria, al ser para ella una vivencia central; una
vivencia que ha marcado su biografía profundamente, atravesando todo su ser.
12 Las dos respuestas dadas por Simone nos indican la relevancia que ese objeto posee
para ella, además de reflejar el dinamismo característico de los encuentros entre sujeto
y objeto – ya que, al reactualizar las narraciones y las emociones, emerge la posibilidad
de que sus contenidos cambien –. La carpeta, en cualquier caso, es producto y
productora de su vivencia en prisión.
Esbozo de un encarcelamiento
13 A través de la documentación recopilada en la carpeta de Simone, es posible conocer y
trazar su paso por prisión. Hay archivos relativos a su entrada en el centro
penitenciario de Martutene, así como referentes a su progresión de grado y
excarcelación; archivos que, sin duda, proporcionan mucha información sobre su
manera de valorar el sistema penitenciario en general y su vivencia carcelaria en
particular.
Figura 2 – Post-it de Simone
Foto: María Ruiz Torrado.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
9
14 Desde una perspectiva cronológica, el primer documento que descubrimos en la carpeta
de Simone lo conforman los mencionados post-it azules (figura 2), ya que comenzó a
escribirlos en su primer día en prisión, estando aún en el “módulo de ingresos”. Según
recuerda, el momento de entrar en la cárcel fue muy impactante y agobiante para ella.
No entendía lo que ocurría, pero sentía asco y vergüenza de sí misma, al igual que
soledad e indefensión por la situación que estaba viviendo. En esa tesitura, le dieron
cinco minutos para llamar a su hermana en Brasil y comunicarle que estaba en prisión.
No pudo volver a hablar con ella hasta pasada una semana. En ese intervalo de tiempo,
escribió una especie de carta, algo parecido a un diario, en el que su hermana era la
destinataria. Para ello, utilizó el único soporte que encontró en el módulo de ingresos:
unos pequeños post-it. En ocho papelitos escritos por ambas caras y con letra minúscula,
Simone reflejó lo que deseaba decirle a su hermana, pese a no atreverse realmente a
hacerlo. Así plasmó sus sentimientos más profundos:
“[01/09/09] Karolina [hermana de Simone], ñ sei o que dizer estou em carcel […] é
muito triste como vc disse acabei ficando sem Joxepa [señora mayor que Simone
atendía como cuidadora interna], sem nada e na carcel sem poder falar com nada e
sem ter nada fora a ñ ser vc do outro lado do mundo. Como sempre achei que isso ñ
fosse passar pq dentro de pouco estaria em casa contigo mas as coisas comigo ñ
funcionam assim e estou aqui chorando com medo de tudo o que pode acontecer,
Joxepa ñ sei como esta, minhas lágrimas já ñ tenho mais e estou morrendo de mido
[…] ñ sei de verdade se sou capaz de suportar isso, confesso que minha vontade é de
morrer mas ñ tem como, pq ñ tem como se matar aqui, o que mais desejo nesse
momento é te abraçar bem forte mas a realidade é outra.” 7
“[02/09/09] Ka[rolina], tudo isso parece surreal […] ñ sei quanto posso suportar.
Mas é verdade que no fim acabei ficando sem nada e ñ sei quanto tempo vou
demorar aqui mas ñ sei se tenho estrutura pra aguentar. Não tenho vontade de
nada… E tudo é muito pesado.”
“[03/09/09] Estou super angustiada pq quero falar com vc e ñ me liberam o tel […] ñ
tenho vontade de nada pq é tudo como uma pesadilha ou pior […] assim declaro que
tudo me faz longo e muito forte de passar. […] vc aprende a valorar tudo mas o
principal eu nunca deixei de valorar que é o amor que tenho por vc. E a vergonha
por tudo isso.”
“[04/09/09] O que estou usando aqui é um pouco de ilusão achando que vou sair
pronto ñ sei prefiro acreditar nisso pq se ñ me morro cada dia o que mais me esta
matando é ñ poder falar com minha irmã deve estar desesperada ñ sei o certo que
vai acontecer só vou saber ao certo quando falar com a advogada […] vamos ver
quanto tempo mais posso aguentar tudo é muito duro.”
“[07/09/09] […] vamos ver se consigo sair daqui o quanto antes a advogada volta de
férias amanhã então acho que dentro de pouco consigo algo… cada vez te quero
mais Karolina e quando sair daqui nos vemos e viveramos coisas novas, que saudade
de vc…”
15 Como se puede apreciar, se trata de una narración intensa: escribe muy rápido y faltan
signos de puntuación. De algún modo, parece una “urgencia narrativa” (Curcio 2011),
en la que se refleja su estado de ánimo. La escritura así – aunque sea de forma bastante
inconsciente para Simone – emerge como práctica de resistencia ante el
encarcelamiento; en concreto, como forma de expresión o vía para poder contarle a
Karolina todo lo que quiere decirle y no puede, porque le resulta doloroso. Escribir lo
que siente en el papel le ayuda a superar las dificultades de comunicación. Le vale para
gestionar su sufrimiento, dar nombre a lo que siente y expresarlo, además de para
producir una presencia simbólica y acercar a su hermana. Después de todo, debemos
tener en cuenta que la escritura – entendida en sentido amplio – siempre ha sido muy
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
10
importante en el contexto penitenciario, fundamentalmente por dos motivos: uno,
porque supone una práctica comunicativa de profundo contenido identitario – en una
situación en la que, justamente, ciertos aspectos identitarios y comunicativos se
encuentran muy mermados – (Gándara 2005); y el otro, porque a través de la escritura
las personas presas pueden intentar materializar su voz y obtener un reconocimiento
negado por la sociedad (Retolaza 2014).
16 En el caso de Simone, se percibe ese deseo de lograr legitimidad social y convertirse en
interlocutora válida; ya que pese a haber tenido siempre el apoyo de su familia, ella
temía haber roto su confianza y que no la respetasen más. Sin duda, experimentaba los
efectos del estigma de las mujeres encarceladas. Al fin y al cabo, las actitudes
sancionadoras y criminalizadoras con ellas son habituales (Davis y Faith 2002), como si
el hecho de ser mujer fuera un agravante. Sus transgresiones son evaluadas en
términos morales y sufren mayor reproche social, al entenderse que han vulnerado
tanto las leyes oficiales, como las normas sociales y los mandatos de género. Para el
imaginario colectivo, cometer un delito e ingresar en prisión es irreconciliable con ser
una “mujer de verdad” o una “mujer como es debido”, por considerarse incompatible
con el modelo de feminidad hegemónico (Naredo 2007; Juliano 2011). Así, más allá de
transmitir que todas las personas presas son malas, se difunde la idea de que, si son
mujeres, posiblemente también sean malas madres, hijas y esposas, además de
ciudadanas irrespetuosas y poco responsables (Faith 2011 [1993]; Almeda 2010). Esas
visiones hacen que ellas tengan que sufrir un mayor estigma, no solo como
delincuentes, sino como “mujeres delincuentes” (Herrera Moreno 1993, en Naredo
2007: 271); lo que se traduce en negación de respeto, desvalorización y menosprecio
(Goffman 2006 [1963]; Juliano 2004). Igualmente, es de destacar que los efectos de la
propia interiorización de los modelos de género dominantes son devastadores, ya que
la mayoría de las mujeres encarceladas viven con mucha preocupación y angustia la
situación de las personas que “dejan” fuera, sintiéndose culpables y avergonzadas, por
haberles “abandonado” y hacerles sufrir (Juliano 2009: 89-90). En el caso de Simone
podemos constatar dichas apreciaciones, pues tanto la vergüenza como la culpa hacia
su familia estuvieron muy presentes durante su encarcelamiento – incluso tras su salida
de prisión –.
17 Más allá de los post-it de Simone, en su carpeta destacan igualmente varios documentos
sobre su progresión de grado penitenciario. Echándoles un vistazo rápido, es posible
apreciar el androcentrismo característico del sistema penitenciario (Almeda 2003), ya
que en la mayoría se hace mención al “penado” o “interno”, a pesar de estar
refiriéndose a Simone. Así pues, parecen archivos elaborados mecánicamente,
utilizando un mismo esquema – masculino genérico – para toda la población reclusa,
limitándose a modificar el nombre de la persona presa y la fecha del documento.
Llevando a cabo una lectura más pausada de esos mismos archivos, sabemos que, al mes
de ser encarcelada, la Junta de Tratamiento del centro penitenciario decidió la
clasificación de Simone en segundo grado (régimen ordinario), porque “de su
valoración se infiere que en el penado concurren circunstancias personales y
penitenciarias de normal convivencia, sin que pueda afirmarse que está capacitado, por
el momento, para llevar un régimen de vida en semi-libertad”. Asimismo, descubrimos
que la Junta de Tratamiento propuso que fuera trasladada al centro penitenciario de
León – aunque finalmente ese traslado no llegara a realizarse – y que su primer permiso
ordinario fue al año y los tres meses de ingresar en prisión. La documentación también
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
11
nos muestra que sus permisos de salida tuvieron una duración cada vez mayor, pero el
centro penitenciario mantuvo siempre las mismas condiciones: por una parte,
presentarse ante la Policía al inicio y al final de cada permiso; y, por otra, estar bajo la
tutela de una asociación de acogida. Al año y medio de su encarcelamiento, comenzó su
incorporación progresiva al “medio abierto”, logrando rápidamente el tercer grado.
18 El sistema de grados o el sistema progresivo ha sido descrito como un mecanismo para
reforzar la capacidad disciplinaria y el control de la institución penitenciaria sobre las
personas reclusas (Foucault 2012 [1975]). Sin duda, como más adelante comprobaremos,
ha sido algo que afectó profundamente a Simone. Pero, aun con todo, los documentos
de su carpeta nos enseñan que se rebeló contra varias de las decisiones de la Junta de
Tratamiento; sobre todo, mediante recursos enviados al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de Bilbao (País Vasco). Las quejas de Simone nos permiten ver su agencia;
es decir, su capacidad de interactuar en el terreno y llevar a cabo prácticas deliberadas
– más o menos conscientes – orientadas a la consecución de sus intereses o deseos,
transformando las situaciones y las relaciones sociales, dentro de ciertas condiciones de
posibilidad (Ortner 2006).8 No obstante, sus recursos también nos posibilitan apreciar
algunas de las desventajas que sufren las mujeres encarceladas de origen extranjero. Al
fin y al cabo, entre la documentación de Simone, hallamos recursos de queja en contra
de ser trasladada a otro centro penitenciario, así como en contra de denegarle el tercer
grado y mantenerla en régimen ordinario. Precisamente, las autoras que han abordado
la situación de especial vulnerabilidad que viven las presas extranjeras (Ribas, Almeda y
Bodelón 2005; Imaz y Martín-Palomo 2007) han señalado que suelen ser trasladadas de
una prisión a otra según las conveniencias del sistema penitenciario y que suelen pasar
más tiempo de encierro, por sus dificultades para cumplir con los requisitos personales,
residenciales y/o laborales demandados por la Junta de Tratamiento. Como
consecuencia de considerarse que no tienen “arraigo”, a muchas – sobre todo, a las que
están en situación irregular – no les queda más remedio que tratar de conseguir el
amparo de una asociación (Ribas, Almeda y Bodelón 2005: 118-119). Ese fue justamente
el caso de Simone, ya que al no tener ni permiso de residencia ni un entorno familiar
cercano, solo pudo comenzar a salir de prisión bajo la tutela de una asociación de
acogida.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
12
Figura 3 – Apuntes de profesionales penitenciarios
Foto: María Ruiz Torrado.
19 Otra realidad que queda reflejada en los recursos de queja que Simone envió al Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria es el proceso de aprendizaje que acompaña a todo
encarcelamiento. Cuando entró en prisión, desconocía por completo el funcionamiento
del sistema penitenciario. Pero, poco a poco, aprendió a desenvolverse en el medio.
Interiorizó un nuevo lenguaje, asimiló otras formas de hacer, aprendió a valerse de los
argumentos propios de la institución carcelaria. Muestra de ello es que, para tratar de
conseguir beneficios penitenciarios, en sus recursos habla sobre “arraigo”,
“reeducación y reinserción”, “buen comportamiento”, “actividades formativas y
ocupacionales”, etc. y cita constantemente artículos de la Ley Orgánica General
Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. En su proceso de aprendizaje, el personal
penitenciario y las y los profesionales del derecho con los que Simone estuvo en
contacto fueron fundamentales; tal y como reflejan los recortes de papel con apuntes
manuscritos que varios profesionales del centro penitenciario hicieron para Simone
(figura 3). Pero igualmente – o quizá más – importante fue lo aprendido junto al resto
de mujeres encarceladas; especialmente, junto a su compañera de celda. Simone
preparó varios recursos con su ayuda y orientación, y juntas estudiaron el Código
Penal, tratando de obtener alguna rebaja en sus condenas. Precisamente, eso indican
varios documentos de la carpeta de Simone; en concreto, las fotocopias del Tratado de
Traslados de Población Presa entre España y Brasil, así como las fotocopias de la reforma del
artículo 368 del Código Penal, referente al tráfico de drogas ilegales (figura 4). Al igual
que en el caso de Simone, la mayoría de las mujeres presas aprenden cómo actuar en
prisión observando y recibiendo ayuda del resto de reclusas. Aunque la convivencia a
veces sea algo tensa, se crean redes de protección mutua y solidaridad – tanto afectiva
como material – (Bhavnani y Davis 2007 [1996]; Makowski 1997; Bosworth 1999; Ribas,
Almeda y Bodelón 2005); relaciones de gran importancia, sobre todo, para quienes
tienen poco o ningún apoyo cercano en el exterior, como era el caso de Simone.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
13
Figura 4 – Fotocopias sobre normativa penal y penitenciaria
Foto: María Ruiz Torrado.
20 Pese a sus múltiples intentos, Simone no consiguió ninguna reducción en su condena, ni
tampoco salir de prisión antes de lo previsto; con lo que tuvo que seguir encerrada
hasta que la Junta de Tratamiento y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria lo
consideraron oportuno. Desde su perspectiva actual, haciendo balance del tiempo que
pasó encarcelada, opina que la prisión es una de las peores experiencias por las que se
puede pasar, porque allí se pierden la dignidad y la personalidad. Ella se sintió
totalmente anulada e invalidada, como si habría dejado de ser parte de la sociedad. De
hecho, le parecía que estaba en el lugar más bajo al que alguien puede llegar:
“Un agujero… un agujero que parece que no va a tener… Un pozo, un pozo sin
fondo, que todavía queda, queda, queda… No veo, no veo luz, no veo fondo, ¡no veo
nada! Es un… agujero negro. La cárcel acaba contigo, acaba contigo… Te quita, te
quita como persona… […] Tú sientes que tú no eres parte de nada, de nada, tú no
perteneces a nada… ni a la raza humana, porque es inclasificable”.
21 Recordar su paso por prisión siempre es duro y doloroso para ella, porque las vivencias
del encierro y la estigmatización la remueven en lo más hondo de su ser. No obstante,
aunque le cueste, ha tomado la firme determinación de hablar en público, porque
quiere hacer todo lo que esté en su mano para cambiar la situación actual. Desea que su
sufrimiento sirva para algo; que su testimonio fomente la reflexión, para que la gente se
dé cuenta de la insensatez del sistema carcelario y cuestione sus prejuicios. No son
objetivos sencillos, pero Simone no puede dejarlos de lado. Después de todo, como
consecuencia de lo vivido en prisión, ha experimentado cierto devenir activista contra
el sistema penitenciario. Más allá de su caso individual, ha sabido hacer una lectura
política, pasando de la mera transgresión al cuestionamiento, del discurso implícito al
explícito. Desde que dejó la prisión, sus planteamientos han ido transformándose,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
14
mostrando una actitud cada vez más crítica con el régimen carcelario, así como una
mayor conciencia sobre las discriminaciones que ocurren en su seno.
Desigualdades, resistencias y agencia en prisión
22 Tal y como se ha ido anotando en los apartados anteriores, el sistema penitenciario es
totalmente androcéntrico y sexista para las mujeres encarceladas, porque (re)produce
los roles tradicionales y las relaciones de género jerárquicas, acentuando las
desventajas y la vulnerabilidad social de las reclusas (Almeda 2003; Cruells e Igareda
2005; Ballesteros 2017). Del mismo modo, es un sistema que agrava la fragilidad social
de las presas de origen extranjero – especialmente, de las que están en situación
irregular – (Ribas, Almeda y Bodelón 2005; Imaz y Martín-Palomo 2007), en tanto que
todo su entramado está diseñado y preparado para un tipo de sujeto que, además de
“hombre”, es “nacional”, con lo que las reclusas extranjeras quedan en un segundo
plano. Yendo aún más allá, también es necesario señalar que el sistema penitenciario es
extremadamente selectivo y que según criterios de clase y etnia/raza, solo persigue y
castiga la criminalidad de los sectores más pobres y vulnerables (Wacquant 2001; Davis
2003). El carácter sexista, clasista y racista del sistema penitenciario es tan profundo
que, a pesar de que muchas de las reclusas extranjeras cuentan con estudios superiores
(Juliano 2011: 162), eso nunca llega a ser un elemento que las aleje de la posibilidad de
ser encarceladas, porque la división social del trabajo – en base a categorías de
estratificación social – hace que ellas solo puedan acceder a los trabajos más
desprestigiados y peor pagados (Offenhenden 2017). Ese sería justamente el caso de
Simone, que pese a haber realizado estudios universitarios en su país, solo ha podido
trabajar en ámbitos de escaso reconocimiento social.
23 Los centros penitenciarios, por tanto, están colmados de múltiples desigualdades. 9 Pero,
a pesar de ello, Simone asegura no haber tomado conciencia de sus desventajas como
“mujer-presa-extranjera” hasta haber salido de la situación de encierro; porque
durante su reclusión tenía muchas otras preocupaciones, que le dificultaban poder
reflexionar sobre su estado de opresión. En cualquier caso, los archivos guardados en su
carpeta aportan datos muy relevantes sobre las citadas desigualdades de género, clase y
etnia/raza.
24 Para empezar, hay toda una serie de discriminaciones penitenciarias que tienen que ver
con las comunicaciones exteriores. Algunos autores clásicos (Goffman 2001 [1961];
Foucault 2012 [1975]) ya señalaron que el aislamiento de las personas presas era una de
las herramientas utilizadas por el sistema penitenciario para imponer su autoridad y,
así, tratar de corregir y disciplinar a las y los presos. Más recientemente, muchas y
muchos investigadores (Cunha 1994, 2002, 2008; Maciel 2011; Cunha y Granja 2014) se
han decantado por visiones más porosas y dinámicas, según las cuales existen
constantes interacciones y articulaciones entre el interior y el exterior de la prisión.
Pero incluso desde esas perspectivas que cuestionan la ruptura, interrupción o
discontinuidad de los ámbitos, es innegable que, para la institución carcelaria,
controlar y obstaculizar los contactos entre el interior y el exterior es de suma
importancia. En lo que respecta a la situación concreta de las mujeres encarceladas, los
estudios han mostrado que ellas reciben menos visitas y ayudas económicas externas,
siendo especialmente crítica la situación de las extranjeras (Almeda 2003; Ribas,
Almeda y Bodelón 2005). Muchas, además, tienen dificultades de contacto con su lugar
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
15
de origen, porque no se tiene en cuenta ni la diferencia horaria, ni el coste mayor de las
llamadas al extranjero (Ribas, Almeda y Bodelón 2005: 78).
25 En la carpeta de Simone, descubrimos varios documentos que reflejan el devenir de sus
contactos con el exterior. El primero de ellos es una hoja explicativa sobre las diversas
opciones comunicativas autorizadas en prisión. Alguien del personal penitenciario se la
entregó el mismo día que fue encarcelada, marcándole con un bolígrafo sus
posibilidades: al no tener pareja ni ser madre, los vis a vises “íntimos” y “de
convivencia” están tachados; los vis a vises “familiares” – que también podrían ser con
amistades – y las comunicaciones orales, a través de locutorio, están marcadas como
opciones posibles; pero las llamadas telefónicas están destacadas con un círculo y dos
flechas, indicando que son las más adecuadas para el caso de Simone. El resto de
archivos de su carpeta, ciertamente, confirman esas primeras impresiones. Por un lado,
a través de varias solicitudes para comunicar por locutorio, hallamos que durante su
primer mes en prisión recibió las visitas de su abogada, tres amigas y algunas familiares
de la mujer mayor que atendía como cuidadora interna. La visitaron una o dos veces,
pero luego ya Simone no volvió a saber nada de ellas y nunca tuvo un vis a vis. Por otro
lado, la documentación sobre sus contactos telefónicos refleja que ésa fue su principal
forma de comunicar con el exterior. Sin embargo, pese a poder completar una lista de
hasta diez números de teléfono, ella nunca tuvo más de cuatro o cinco contactos al
mismo tiempo y, de entre esos, los únicos que mantuvo durante todo su encierro solo
fueron los de sus padres y su hermana en Brasil; algo que muestra claramente que,
como ya hemos visto, y al igual que muchas otras presas de origen extranjero, en el País
Vasco apenas tenía red social y su único apoyo estable fue el de su familia, desde la
distancia. No obstante, es de destacar que la última lista de contactos telefónicos de
Simone también es ilustrativa de las prácticas de resistencia de las mujeres
encarceladas, ya que entre sus contactos aparecen varias amistades que no son suyas,
sino de su compañera de celda, burlando así la norma de no más de diez números de
teléfono por reclusa.
26 Entre la información recopilada por Simone, también encontramos algunos
documentos relativos al control, la vigilancia y la disciplina del sistema penitenciario.
Sin duda, aspectos que suponen los cimientos del encierro como medio de corrección,
en su afán por lograr la sumisión y la obediencia de las personas presas, a través de su
examen y clasificación, así como a través de una lógica de premios y castigos (Goffman
2001 [1961]; Foucault 2012 [1975]). Aspectos que además son destacables desde una
perspectiva de género, ya que diversas investigaciones han señalado que, a partir de
concepciones sexistas por parte del funcionariado, con ellas la disciplina y el control
son más estrictos y se les exige una mayor docilidad, llegando a ser sancionadas más
duramente y frecuentemente que los hombres presos (Aguilera 2011).
27 Desde ese punto de vista del carácter correctivo de la institución penitenciaria, el
primer documento destacable de Simone es su “programa individualizado de
tratamiento” (PIT), esto es, el plan de objetivos penitenciarios diseñado por la Junta de
Tratamiento para ella, con intención de superar sus “carencias”. En dicho programa, las
y los profesionales de la prisión destacan su “ausencia de apoyo social”, así como sus
“necesidades/intereses laborales”, fijando como metas “consolidar hábitos laborales”,
“potenciar la participación en recursos externos” y “potenciar la realización de
actividades positivas”. En el apartado dedicado a las observaciones, se especifica que
“su nivel de cumplimiento/incumplimiento será tenido en cuenta a efectos de
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
16
recompensas y beneficios penitenciarios, así como en su valoración a la hora de su
revisión de grado”, porque pese a no ser obligatoria la realización del PIT, su omisión
equivale a cumplir la totalidad de la condena en situación de encierro. A sabiendas de
ello, Simone optó por llevar a cabo todas las actividades que pudieran proporcionarle
una buena imagen ante la Junta de Tratamiento, incluso aunque no fueran tareas
concretas de su PIT. La revisión de actividades del PIT que hallamos en su carpeta da
buena cuenta de ello, ya que descubrimos que en sus primeros nueve meses en prisión
llegó a realizar hasta 27 actividades, recibiendo calificaciones realmente favorables: 15
“excelentes”, 8 “destacados” y 4 “normales”.
28 Igualmente, otros documentos del archivador de Simone también nos dan pistas sobre
la dinámica de recompensas y castigos que caracteriza al sistema penitenciario. Por una
parte, las puntuaciones trimestrales por la participación en ocupaciones del PIT nos
permiten conocer qué tareas realizó Simone y cómo fueron valoradas por parte de la
Junta de Tratamiento: auxiliar de comedor (9,9 puntos), nivel I de castellano para
extranjeros (108,0 puntos), experto en limpieza (24,0 puntos), artesanía comercial (24,0
puntos), manualidades (21,0 puntos), etc. Por otra parte, las solicitudes y concesiones
de recompensas por participación positiva en actividades nos dan cuenta de los
premios ofertados y el coste de cada uno de ellos: comunicación extraordinaria (40
puntos), nota meritoria con efectos cancelatorios de sanciones (30 puntos), nota
meritoria sin efectos cancelatorios (25 puntos), permanencia en celda por las tardes (40
puntos), etc. Simone fue decantándose por unos premios u otros, según las opciones y
necesidades que tenía en cada momento. En cualquier caso, tal y como indican los
documentos citados, y relata también la propia Simone, ella fue una “presa ejemplar”
para la Junta de Tratamiento – incluso a pesar de recurrir algunas de sus decisiones –.
Varios estudios (Bosworth 1999; Ribas, Almeda y Bodelón 2005) han señalado que, a
pesar de ser una práctica muy exigente y arriesgada, algunas mujeres reclusas deciden
actuar como presas de confianza del funcionariado, pensando que es la opción más
favorable para obtener “favores” – no oficiales – y beneficios penitenciarios. Simone
afirma que para ella fue como crear un personaje o llevar una máscara; se mostraba
sumisa y obediente ante el personal de prisión, pero a sus espaldas no dudaba en
referirse a ellas y ellos con apodos despectivos como “Sargento Megera”, “Formiga
Atômica”, “Mata Hari”, o “Frango”, tal y como hacían también el resto de mujeres
encarceladas. En opinión de Simone, si no se tienen apoyos cercanos en el exterior, no
quedan muchas más opciones que ser una presa modélica, porque las relaciones de
poder entre el personal penitenciario y la población reclusa generan sentimientos de
gran soledad y desprotección:
“Ahí… tú tienes claro, desde el primer día, que tú eres un número. […] ¡Nadie te
conoce! ¡No son tus padres! ¡No son tu círculo social! […] Es como si tú no existieses.
¡Eres invisible! Todos ahí somos invisibles. Yo creo que las personas tienen más
dignidad, cuando tienen más visitas, porque están con los suyos. Pero yo no he
tenido esto, porque no tengo nadie aquí, de mi familia ni… No tenía círculo social.
Entonces, ¡yo no era nada! No era considerada nada. […] ¡Podían hacer lo que
quisiesen conmigo!”
29 Más allá de los documentos ya mencionados, en la carpeta de Simone hay más archivos
que proporcionan información sobre las actividades formativas y laborales que hizo en
prisión. Así, a través de algunos certificados y documentos semejantes, pero sobre todo
a través de una gran cantidad de instancias enviadas a la Junta de Tratamiento,
hallamos que Simone llevó a cabo numerosos cursos y talleres: desarrollo de
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
17
habilidades sociales, resolución de conflictos, técnicas y búsqueda de empleo, primeros
auxilios, limpieza de inmuebles, manipulación de alimentos, bailes, teatro, mandalas
(figura 5), etc. Según cuenta, trató de hacer todas las actividades que podía; por una
parte, como ya hemos visto, para dar una buena imagen a la Junta de Tratamiento y
conseguir puntos; pero, por otra, también para tratar de distraerse de sus
preocupaciones y ocupar el tiempo de alguna forma.
Figura 5 – Mandalas pintados por Simone
Foto: María Ruiz Torrado.
30 Las instancias de Simone, igualmente, nos aportan datos significativos sobre otras dos
cuestiones. En primer lugar, es posible observar que ella ha escrito la mayoría de las
solicitudes, pero algunas de ellas han sido redactadas total o parcialmente por su
compañera de celda; hecho que nos vuelve a remitir a las relaciones de solidaridad y
apoyo mutuo creadas entre las mujeres encarceladas. En segundo lugar, es fácil
percatarse de que el lenguaje utilizado no es demasiado habitual fuera de los muros
penitenciarios; ya que las instancias están repletas de fórmulas que pretenden dejar
patente la aceptación de la autoridad del personal carcelario: “estimada señora”, “por
favor, solicito permiso para participar”, “agradezco desde logo la atención dispensada”,
“a la espera de su respuesta, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente”, “no
aguardo de su resposta, atenciosamente”, etc. El uso de ese tipo de expresiones, que
hacía que Simone se viese tan inferior como dependiente, es reflejo del proceso de
aprendizaje mencionado anteriormente.
31 En lo que respecta a las desigualdades relacionadas con las actividades formativas y
laborales de prisión, se ha señalado que las mujeres disponen de menos recursos
económicos, materiales y personales, teniendo un acceso más limitado a muchos
cursos, talleres y espacios, como consecuencia de que la planificación y la gestión
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
18
penitenciaria se oriente a los hombres, sus necesidades y demandas (SGIP 2009: 4). En el
caso de las pocas opciones laborales, se observa que, aunque el número de mujeres con
empleo ha ido en aumento, también ha ido incrementándose la brecha de salarios,
porque ellas trabajan en las actividades peor remuneradas (Viedma y Frutos 2012: 103),
a menudo relacionadas con tareas feminizadas y desprestigiadas. Casi las tres cuartas
partes de sus empleos son servicios a la propia red penitenciaria y tareas auxiliares,
frecuentemente indeterminadas y de escasa especialización (SGIP 2009: 18). Por tanto,
son actividades que no sirven demasiado de cara al exterior y, además, suponen una
experiencia laboral muy difícil de acreditar, sobre todo para las mujeres extranjeras en
situación irregular.
32 Las nóminas y las notificaciones de altas y bajas laborales guardadas por Simone en su
carpeta reflejan claramente la realidad laboral de las mujeres encarceladas “sin
papeles”. Entre las escasas posibilidades de empleo que había para las mujeres, Simone
tuvo la oportunidad de trabajar limpiando los comedores, la sala de los vis a vises y la
garita de las funcionarias, como dependienta de economato y en tareas de
mantenimiento. Para ella, tener un empleo era deseable de cara a dar una buena
imagen a la Junta de Tratamiento, distraerse y ganar algo de dinero, ya que no quería
recurrir a la ayuda económica de su familia. En cualquier caso, nunca recibió más de
248,27 euros al mes. Trabajó en el centro penitenciario dada de alta en la Seguridad
Social, hasta que le concedieron el régimen abierto y se extinguió su “relación laboral
especial”; lo que, como extranjera en situación irregular, significa que el trabajo
realizado no consta oficialmente en ninguna parte.
33 Para terminar con las desigualdades penitenciarias reflejadas en la documentación de
la carpeta de Simone, hay que dedicar unas líneas también al estado de salud de las
mujeres presas. En lo que a ese tema respecta, los estudios han destacado que los
servicios y recursos sanitarios de prisión son inadecuados y que, como consecuencia de
ello, ocurre una sobre-medicalización, especialmente grave en el caso de las mujeres, ya
que a ellas se les recetan más tranquilizantes, antidepresivos y ansiolíticos (Del Val
2012: 140), como resultado de visiones naturalizadoras y estereotipadas que las
presentan como histéricas, inestables, más emocionales e irracionales que los hombres
(Almeda 2003; Mountian 2007). Asimismo, las investigaciones han señalado que el
encarcelamiento tiene importantes consecuencias a nivel psicológico y físico; siendo, de
nuevo, principalmente preocupante la situación de las presas (Del Val 2012; Ruiz
Torrado 2016).
34 Entre los documentos de Simone, encontramos los resultados de varios análisis de
orina, realizados sucesivamente en un período de seis meses. Según cuenta, le hicieron
un seguimiento especial, con el objeto de saber si se estaba drogando, porque venía
sufriendo unos ataques con convulsiones. Después de dar negativo en todos los
controles de droga y de pasar por una serie de pruebas médicas, el diagnóstico fue que
padecía estrés emocional por el impacto del encierro penitenciario. Al fin y al cabo,
para ella era algo tremendamente angustiante y doloroso:
“Agobiante. Es la experiencia más dura que una persona puede pasar. Es te atar,
¿sabes? Es como si estuvieras atada. […] ¡No te dejan salir! Te quitan tus
movimientos. […] Tú estás muy torpe, muy agobiado… […] No he quitado todavía esa
sensación de agobio. […] Parece que hasta el aire es… No es un aire natural. Porque
parece que es… […] Es como una cápsula. […] Da la sensación que tú estás siempre
con una bombona de oxigênio, ¿no? Y que en cualquier momento te va a ir, te va a
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
19
acabar y tú vas a quedar sin aire. […] He vivido muchísimo con esa sensación, esa
ansiedad… ese estresse”.
35 Critica que, no obstante, la respuesta del centro penitenciario consistió en atiborrarla
de ansiolíticos y tranquilizantes.
Consideraciones finales
36 Como hemos podido ver, la carpeta de Simone evoca su paso por prisión, conectándola
en cada uno de sus encuentros con el espacio penitenciario, el tiempo de encierro y las
personas con las que compartió esa parte de su biografía. Sin duda, son ocasiones de
gran intensidad, en las que las narraciones y las emociones se recrean, reactualizando
los contenidos, dentro de un proceso abierto y dinámico. Desde esa óptica debemos
abordar los motivos de Simone para conservar la carpeta durante todos estos años; ya
que salta a la vista la importancia que la carpeta posee para ella, en tanto que producto
y productora de su vivencia en prisión.
37 Asimismo, la carpeta remite al carácter discriminatorio del sistema penitenciario,
desde una perspectiva de género, clase y etnia/raza. Los documentos archivados
permiten indagar en el estigma de las mujeres presas, los sentimientos de culpa y
vergüenza hacia la familia, la mayor soledad y vulnerabilidad de las reclusas
extranjeras, y, en definitiva, una extensa lista de desigualdades. Paralelamente, la
carpeta también posibilita apreciar algunas de las prácticas de resistencia y agencia que
las mujeres presas llevan a cabo para tratar de atenuar en su día a día los efectos de la
reclusión penitenciaria; prácticas como crear redes de apoyo y solidaridad entre ellas
y/o como desarrollar formas de superar las limitaciones comunicativas impuestas por
la prisión.
Receção da versão original / Original version
2017 / 11 / 20
Aceitação / Accepted 2018 / 04 / 18
BIBLIOGRAFÍA
AGUILERA, Marga, 2011, “Mujeres presas: la doble condena”, en César Manzanos (comp.), Políticas
Sociales para Abolir la Prisión. Vitoria-Gasteiz, Ikusbide, 111-120.
ALMEDA, Elisabet, 2003, Mujeres Encarceladas. Barcelona, Ariel.
ALMEDA, Elisabet, 2010, “Privación de libertad y mujeres extranjeras: viejos prejuicios y nuevas
desigualdades”, en Fanny Añaños (comp.), Las Mujeres en las Prisiones: La Educación Social en
Contextos de Riesgo y Conflicto. Barcelona, Gedisa, 201-234.
ALONSO REY, Natalia, 2012, “Las cosas de la maleta: objetos y experiencia migratoria”, Arxiu
d’Etnografia de Catalunya, 12: 33-56.
ALONSO REY, Natalia, 2016, “De objetos y migraciones: ‘hacer las maletas’ ”, Ankulegi, 20: 31-46.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
20
ALONSO REY, Natalia, 2017, Unas Cuantas Cosas: Objetos Biográficos y Experiencias Migratorias.
Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, tesis doctoral.
APPADURAI, Arjun (comp.), 1988, The Social Life of Things. Cambridge, UK, Cambridge University
Press.
BALLESTEROS, Ana, 2017, “Redomesticidad y encarcelamiento femenino en el sistema
penitenciario español”, Papers, 102 (2): 261-285.
BAUDRILLARD, Jean, 2010 [1968], El Sistema de los Objetos. Madrid, Siglo XXI.
BHAVNANI, Kum-Kum, y Angela Y. DAVIS, 2007 [1996], “Mujeres presas, estrategias de
transformación”, en Barbara Biglia y Conchi San Martín (comps.), Estado de Wonderbra:
Entretejiendo Narraciones Feministas sobre las Violencias de Género. Barcelona, Virus, 197-215.
BOSWORTH, Mary, 1999, Engendering Resistance: Agency and Power in Women’s Prisons. Aldershot,
Ashgate.
CRUELLS, Marta, y Noelia IGAREDA (comps.), 2005, Mujeres, Integración y Prisión. Barcelona, Aurea.
CUNHA, Manuela P. da, 1994, Malhas que a Reclusão Tece: Questões de Identidade Numa Prisão
Feminina. Lisboa, Cadernos do Centro de Estudos Judiciários.
CUNHA, Manuela Ivone Pereira da, 2002, Entre o Bairro e a Prisão: Tráfico e Trajectos. Lisboa, Fim de
Século.
CUNHA, Manuela Ivone P. da, 2008, “Closed circuits: kinship, neighborhood and incarceration in
urban Portugal”, Ethnography, 9 (3): 325-350.
CUNHA, Manuela P. da, y Rafaela GRANJA, 2014, “Gender asymmetries, parenthood and
confinement in two Portuguese prisons”, Champ Penal, XI, disponible en http://
champpenal.revues.org/8809 (última consulta en junio de 2019).
CURCIO, Renato, 2011, “Donde todo comenzó”, en Dario Malventi (comp.), Umbrales: Fugas de la
Institución Total. Sevilla, UNIA, 14-20.
DAVIS, Angela Y., 2003, Are Prisons Obsolete?. Nueva York, Seven Stories Press.
DAVIS, Nanette, y Karlene FAITH, 2002, “Las mujeres y el Estado: modelos de control social en
transformación”, CODHEM, 26: 90-102.
DEL VAL, Consuelo, 2012, “Encierro y derecho de salud”, en Consuelo del Val y Antonio Viedma
(comps.), Condenadas a la Desigualdad: Sistema de Indicadores de Discriminación Penitenciaria.
Barcelona, Icaria, 109-141.
FAITH, Karlene, 2011 [1993], Unruly Women: The Politics of Confinement & Resistance. Nueva York,
Seven Stories Press.
FILI, Andriani, 2013, “Women in prison: victims or resisters? Representations of agency in
women’s prisons in Greece”, Signs, 39 (1): 1-26.
FOUCAULT, Michel, 2012 [1975], Vigilar y Castigar. Madrid, Biblioteca Nueva.
GÁNDARA, Lelia, 2005, “Voces en cautiverio: un estudio discursivo del graffiti carcelario”, en
Antonio Castillo y Verónica Sierra (comps.), Letras Bajo Sospecha. Gijón, Trea, 237-255.
GELL, Alfred, 1998, Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford, Clarendon Press.
GOFFMAN, Erving, 2001 [1961], Internados: Ensayos sobre la Situación Social de los Enfermos Mentales.
Buenos Aires, Amorrortu.
GOFFMAN, Erving, 2006 [1963], Estigma: La Identidad Deteriorada. Buenos Aires, Amorrortu.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
21
GOMES, Sílvia, 2014, Caminhos para a Prisão: Uma Análise do Fenômeno da Criminalidade Associada a
Grupos Estrangeiros e Étnicos em Portugal. Vila Nova de Famalicão, Edições Húmus.
GOMES, Sílvia, y Rafaela GRANJA (comps.), 2015, Mulheres e Crime: Perspetivas sobre Intervenção,
Violência e Reclusão. Vila Nova de Famalicão, Edições Húmus.
HENARE, Amira, Martin HOLBRAAD, y Sari WASTELL (comps.), 2007, Thinking through Things:
Theorising Artefacts Ethnographically. Londres, Routledge.
HERRERA MORENO, Myriam, 1993, “Mujeres y prisión”, Cuadernos de Política Criminal, 49: 339-354.
HICKS, Dan, 2010, “The material-cultural turn: event and effect”, en Dan Hicks y Mary Beaudry
(comps.), The Oxford Handbook of Material Culture Studies. Oxford, Oxford University Press, 25-98.
IMAZ, Elixabete, y Teresa MARTÍN-PALOMO, 2007, “Las otras otras: extranjeras y gitanas en las
cárceles españolas”, en Barbara Biglia y Conchi San Martín (comps.), Estado de Wonderbra:
Entretejiendo Narraciones Feministas sobre las Violencias de Género. Barcelona, Virus, 217-227.
JULIANO, Dolores, 2004, Excluidas y Marginales. Madrid, Cátedra.
JULIANO, Dolores, 2009, “Delito y pecado: la transgresión en femenino”, Política y Sociedad,
46 (1-2): 79-95.
JULIANO, Dolores, 2011, Presunción de Inocencia: Riesgo, Delito y Pecado en Femenino. Donostia-San
Sebastián, Gakoa.
LATOUR, Bruno, 1993, We Have Never Been Modern. Cambridge, MA, Harvard University Press.
LAVIOLETTE, Patrick, 2013, “Introduction. Storing and storying the serendipity of objects”, en
Anu Kannike y Patrick Laviolette (comps.), Things in Culture, Culture in Things: Approaches to Culture
Theory 3. Tartu, University of Tartu Press, 13-33.
MACIEL, Daniel, 2011, “O trabalho de campo institucional: entrar e sair de um estabelecimento
prisional”, en Luis Díaz, Óscar Fernández y Pedro Tomé (comps.), Lugares, Tiempos, Memorias: La
Antropología Ibérica en el Siglo XXI. León, Universidad de León, 835-842.
MAGEEHON, Alexandria, 2008, “Caught up in the system: how women who have been
incarcerated negotiate power”, The Prison Journal, 88 (4): 473-492.
MAKOWSKI, Sara, 1997, “Formas de resistencia y acción colectiva en cárceles de mujeres”,
Fermentum, 7 (19): 68-77.
MÉNDEZ, Lourdes, 2008, Antropología Feminista. Madrid, Síntesis.
MILLER, Daniel, 1987, Material Culture and Mass Consumption. Oxford, Basil Blackwell.
MOUNTIAN, Ilana, 2007, “Mujeres bajo control”, en Barbara Biglia y Conchi San Martín (comps.),
Estado de Wonderbra: Entretejiendo Narraciones Feministas sobre las Violencias de Género. Barcelona,
Virus, 73-82.
NAREDO, María, 2007, “Reclusas con hijos/as en la cárcel”, en Elisabet Almeda y Encarna Bodelón
(comps.), Mujeres y Castigo: Un Enfoque Socio-Jurídico y de Género. Madrid, Dykinson, 263-275.
OFFENHENDEN, María, 2017, “Si Hay que Romperse Una, Se Rompe”: El Trabajo del Hogar y la
Reproducción Social Estratificada. Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, tesis doctoral.
ORTNER, Sherry B., 2006, Anthropology and Social Theory. Durham, NC, Duke University Press.
RETOLAZA, Iratxe, 2014, “Kartzela-kronikak eta kartografiak: subjektu kartzelatutik kartzela-
subjekturantz”, en Markel Ormazabal, Hemen Naiz, ez Gelditzeko Baina. Tafalla, Txalaparta, 141-162.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
22
RIBAS, Natalia, Elisabet ALMEDA, y Encarna BODELÓN, 2005, Rastreando lo Invisible: Mujeres
Extranjeras en las Cárceles. Barcelona, Anthropos.
RUIZ TORRADO, María, 2016, Kartzela genero-erakunde bezala: genero-bereizkeriak, erresistentzia-
praktikak eta agentzia Euskal Herrian espetxeratutako emakumeen artean. Donostia-San Sebastián,
Universidad del País Vasco, tesis doctoral.
SGIP – SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, 2009, Programa de Acciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Penitenciario. Madrid, Ministerio del Interior.
STRATHERN, Marilyn, 1999, Property, Substance, and Effect: Anthropological Essays on Persons and
Things. Londres, Athlone Press.
THURÉN, Britt-Marie, 1993, El Poder Generizado: El Desarrollo de la Antropología Feminista. Madrid,
Universidad Complutense de Madrid.
VIEDMA, Antonio, y Lola FRUTOS, 2012, “El trabajo en prisión: observando las desigualdades de
género”, en Consuelo del Val y Antonio Viedma (comps.), Condenadas a la Desigualdad: Sistema de
Indicadores de Discriminación Penitenciaria. Barcelona, Icaria, 87-108.
WACQUANT, Loïc, 2001, Las Cárceles de la Miseria. Madrid, Alianza.
WAGNER, Roy, 1986, Symbols that Stand for Themselves. Chicago, The University of Chicago Press.
NOTAS
1. Este artículo se ha elaborado con una Ayuda para la Contratación de Doctores Recientes hasta
su Integración en Programas de Formación Postdoctoral de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU). Quiero agradecer a Simone su generosidad al prestarme la carpeta con su documentación
penitenciaria, así como su atenta lectura de este artículo. Asimismo, quiero mostrar mi
agradecimiento a la profesora Mari Luz Esteban, por sus comentarios, sugerencias y críticas
constructivas. Para mantener el anonimato de la protagonista y las personas citadas por ella, en
todo momento utilizaré nombres ficticios.
2. La investigación “Mujeres ex-presas: vulnerabilidad y autonomía”, por Miren Arbelaitz, Edurne
Bengoetxea, Alma Méijome, María Ruiz, y Laura Vara (beca de investigación Emakunde –
Instituto Vasco de la Mujer – para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2011).
3. Llevé a cabo mi tesis doctoral bajo la dirección de Mari Luz Esteban en la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU), con una beca predoctoral del Gobierno Vasco (2013-2016). Asimismo, para su
realización, hice una estancia de tres meses en el Centro em Rede de Investigação em
Antropologia (CRIA), bajo la supervisión de Manuela Ivone Cunha. La investigación fue defendida
el día 20/12/2016.
4. La cárcel de Martutene se encuentra en Donostia-San Sebastián, en el País Vasco. De estructura
radial y pequeño tamaño, tiene un único departamento de mujeres, provisto de 11 celdas. Alberga
a unas 30 mujeres presas.
5. Las prácticas de resistencia cotidianas y la agencia de las mujeres presas no son temas que por
lo general se hayan tratado demasiado. Las escasas investigaciones realizadas hasta hoy
(Bhavnani y Davis 2007 [1996]; Makowski 1997; Bosworth 1999; Ribas, Almeda y Bodelón 2005;
Mageehon 2008; Fili 2013) han defendido que las mujeres reclusas siempre cuentan con cierta
capacidad de acción y transformación de las relaciones de poder, al ser la resistencia una
posibilidad que existe incluso en los marcos más restrictivos. Según esos trabajos, la prisión es un
ámbito evidente de discriminación, desventaja y vulnerabilidad para las mujeres presas, pero el
poder penitenciario nunca resulta ni total ni absoluto y las mujeres encarceladas en ningún caso
dejan de ser agentes o sujetos activos. La citada tesis doctoral partió de dichos planteamientos.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
23
6. Según el artículo 89 del Código Penal, si se condena con una pena de no más de seis años a una
persona inmigrante que no tiene permiso de residir en el Estado español, es posible sustituir la
pena por expulsión del territorio, así como aplicar una prohibición de volver a cualquier país de
la zona Schengen en un plazo de tres a diez años. En el actual contexto penal, las sustituciones de
la pena por expulsión han ido en aumento.
7. Abreviaturas: ñ – não; vc – você; pq – porque.
8. Profundizando algo más en su definición del concepto de “agencia”, Ortner (2006) reflexiona
sobre la capacidad de actuar de las y los sujetos abordando dos significados distintos: agencia en
el sentido de poder y agencia en el sentido de (búsqueda de) proyectos. Según la autora, se trata
de una distinción importante a la hora de abordar la resistencia, ya que puede ser entendida
como agencia-poder que opera “por debajo” frente a la dominación – primer significado – o como
agencia-proyecto de las personas subordinadas – segundo –.
9. Las desigualdades de género, clase y etnia/raza del sistema penitenciario también han sido
señaladas en el ámbito portugués (Cunha 1994, 2002; Cunha y Granja 2014; Gomes 2014; Gomes y
Granja 2015).
RESÚMENES
Tomando como eje una carpeta compuesta de 129 documentos penitenciarios guardados por una
mujer a la que he llamado Simone, este artículo pretende profundizar en el significado del
encarcelamiento para las mujeres extranjeras recluidas en el País Vasco. Mediante un caso
concreto e ilustrativo, y a partir de aportaciones antropológicas feministas y relativas a la cultura
material, se abordan tres aspectos: (i) las interacciones entre sujeto y objeto; (ii) las desigualdades
de género, clase social y etnia/raza en el sistema penitenciario; (iii) la agencia y las prácticas de
resistencia cotidianas para mitigar los efectos del encierro.
A folder consisting of 129 prison documents kept by a woman I named Simone is the central topic
of the current paper, which seeks to delve into the meaning of imprisonment for foreign women
imprisoned in the Basque Country. Through a specific and illustrative case, and using feminist
anthropological contributions and proposals about material culture, three topics will be
addressed: (i) interactions between the subject and the object; (ii) inequalities related to gender,
social class and ethic group/race; (iii) agency and daily resistance techniques to reduce the
effects of imprisonment.
ÍNDICE
Keywords: women inmates, imprisonment, subject-object relationships, gender, foreign status
Palabras claves: mujeres presas, encarcelamiento, relaciones sujeto-objeto, género, extranjería
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
24
AUTOR
MARÍA RUIZ TORRADO
Grupo de Investigación AFIT, Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social,
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), País Vasco, España
maria.ruizt@ehu.eus
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
25
Entre a política e a técnica: prática
jurídica no Supremo Tribunal
Federal brasileiro
Between politics and technique: legal practice in the Brazilian Federal Supreme
Court
Andressa Lewandowski
Introdução
1 Em 2000, Beverley McLachlin – a primeira mulher a assumir o mais alto cargo do
sistema jurídico canadense – publicava um artigo no Singapore Academy of Law Journal
intitulado “Judicial power and democracy”, refletindo sobre a relação entre direito e
política. O artigo explora aquilo que a autora chama de “fenômeno jurídico”, ou seja, a
potencialização do poder dos tribunais nas últimas décadas, não apenas no Canadá, mas
no mundo todo. Os exemplos do fenômeno não são poucos e recupero aqui alguns. Na
Austrália, a corte superior interfere – a partir de suas decisões – no debate político
sobre direitos dos povos aborígenes. Em Israel, negocia conflitos entre diferentes
grupos religiosos. Na Inglaterra, interfere no poder da primeira-ministra sobre a saída
do Reino Unido da União Europeia. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tornou a
união estável entre pessoas do mesmo sexo abrigada na mesma lei que protege uniões
entre casais heterossexuais, cassou mandados de políticos, impede votações no
congresso. Parece-me, portanto, relevante discutir política e direito, na medida em que,
em contextos entendidos como democráticos, juízes estão tomando decisões
consideradas políticas, isto é, posicionamentos a princípio reservados aos eleitos – no
sentido literal da expressão. Por essa razão, proponho uma análise etnográfica sobre a
relação entre política e direito a partir do caso da suprema corte brasileira.
2 A reflexão que proponho se dá a partir de um deslocamento analítico que, em vez de
rastrear a convergência entre a prática jurídica e os interesses políticos externos a ela,
tenta descrever a política própria do direito que se faz no cotidiano dos tribunais – e
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
26
estou falando aqui especificamente do Supremo Tribunal brasileiro – nas (i) formas de
gerenciamento dos processos e (ii) nas disputas em torno de posições no plenário. Tal
não significa negar alguma influência política externa ao tribunal como um operador
das decisões, mas compreender uma qualidade política no e do tribunal nos
movimentos próprios da prática jurídica, ou seja, pensar política e direito a partir de
outras das categorias e práticas que constituem o cotidiano do tribunal.
3 Ainda que juntar política e direito na mesma frase possa soar aos ouvidos dos juízes
(chamados de ministros no Brasil) do Supremo Tribunal Federal (doravante STF) como
uma acusação – tendo em vista que afirmam recorrentemente que seu trabalho é
técnico e não político, negando insistentemente a política na técnica –, não é disso que
se trata na análise aqui proposta. O argumento aqui apresentado não trata de
evidenciar o processo conhecido como politização da justiça, tampouco o fenômeno de
“judicialização da política” (Tate e Vallinder 1995) de que falávamos no início do texto.
O que interessa aqui é pensar uma política que está na própria natureza do direito, ou
seja, que tipo de política é produzido, reconhecido e efetivado naquele tribunal, ora
como um dos aspectos da técnica, ora como forma de gestão de interesses jurídicos.
4 Para tal, tomarei os processos de indicação, a gestão processual e a relação entre os
ministros como três campos de relações em que podemos pensar a política e o direito
como arenas diferentes e também como esferas não mutuamente excludentes. Em
suma, técnica e política são formas distintas do que pode ser entendido como fazer
política ou não fazer política.
5 Isabelle Stengers (2005) chama de “ecologia das práticas” o modo de pensar a ideia de
prática a partir dos processos através dos quais ela se diferencia de outras e também de
seus próprios processos de transformação. Segundo a autora, uma prática só pode ser
alcançada se nos orientarmos por seus próprios requisitos – o que tem a ver com
procedimentos de experimentação e, sobretudo, suas demandas –, que se relacionam,
embora não se restrinjam, ao processo histórico em que tal prática é produzida. Essas
duas dimensões formariam um conjunto de restrições que não apenas validariam ou
legitimariam os atos ou as práticas, mas que, nos termos da autora, forçariam a própria
ação/atuação de seus praticantes (Stengers 1996: 74).
6 Uma ecologia das práticas tem menos a ver com ethos ou com sua inserção em
estruturas hegemônicas “mais amplas” do que com registros daquilo que está sendo
negociado para sua sustentação. A ideia de prática de Stengers (2005) situa-se entre a
contingência do contexto e a vulnerabilidade da ação, porquanto nada está dado de
início numa ecologia que se realiza em meio à multiplicidade de restrições e
causalidades. Uma prática não deve ser, portanto, reduzida a uma mera função ou
expressão de um ambiente, pois compõe, através das demandas e requisitos, o próprio
bom operador.
7 Essa é umas das questões centrais do artigo aqui proposto: como se faz um bom juiz, um
bom ministro, na modulação entre técnica, estética e política? A resposta a que procuro
chegar analisa justamente esse “como se faz?”, a partir das zonas de fronteira entre
política e direito, ou, ainda, nas formas de fazer política, sem que isso seja visto pelos
operadores como um tipo de vazamento e/ou ingerência do mundo da política na
técnica do direito.
8 Se retomarmos um dos argumentos centrais dos trabalhos de Bruno Latour (2010) –
refiro-me principalmente à etnografia no Conselho de Estado francês, mas não somente
–, pode-se dizer que o Direito – assim com letra maiúscula – como instituição é também
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
27
política, na medida em que é um composto de elementos indefinidamente misturados
que englobam, por exemplo, sua totalidade de textos, atos e instituições. Contudo, no
argumento do autor, para ser ou se fazer direito é preciso que seja acionado um tipo de
conexão específica que liga uma coisa à outra, a lei à decisão – um modo de enunciação
extraído da instituição. Assim é o direito, com um modo específico de produção de
verdade, com condições de possibilidade singulares. Desse modo, direito não é política.
Assim afirmam também grande parte dos juristas com quem tive contato durante o
trabalho de campo. O direito seria uma destas práticas, como a ciência e mesmo a
política, que possuem modos de existência distintos e irredutíveis. Afastando-se da
ideia de que o Direito teria uma essência transcendente e imutável, enraizada numa
pressuposição abstrata (como defendia o jurista Hans Kelsen, base teórica de grande
parte dos sistemas jurídicos de tradição civilista), Latour argumenta que a própria
essência do direito está numa prática que se estabelece na relação entre enunciação e
instituição.
9 Segundo Alain Pottage (2012), os regimes de enunciação se desenvolvem de acordo com
princípios de uma engenharia discursiva que unem coisas tais como declarações, atos
de fala e textos. O direito é definido a partir de um “marcador que qualifica
determinados enunciados como um elemento de Direito e não de algum outro modo de
existência” (Pottage 2012: 170). Para usar um termo comum entre os operadores do STF,
trata-se de uma técnica – um modo particular de transmissão que coloca o texto em
certo regime de inteligibilidade, em certo registro de conexão. Mais do que isso, parece
possível argumentar que esses marcadores, que compreendem formas de argumentação
como jurídicas, não estão prontamente dados, mas são produzidos a partir de uma
gestão da legalidade (estou me referindo aqui exclusivamente à forma e não ao
conteúdo), ou ainda de uma gestão daquilo que pode ser convertido em modo particular
da operação jurídica; ou seja, a forma de um argumento ou de um tipo de técnica que
podem ser compreendidos e aceitos como fazendo parte da prática jurídica não está
dada a priori.
10 Antes de entrar de fato em tal “produção”, faço uma pausa para localizar o Supremo
Tribunal brasileiro em suas competências judiciais, assim como também localizar
minha própria inserção no tribunal.
11 A Constituição Federal brasileira de 1988 delegou ao Supremo Tribunal Federal duas
competências fundamentais: como cúpula do poder judiciário, funciona como última
instância de todo sistema de justiça; como tribunal constitucional, detém a “precípua
guarda da Constituição”. Desse modo, compete ao tribunal julgar tanto “processos
originários” − que começam e terminam no STF − como os recursos − em que o
supremo pode reverter ou confirmar decisões já proferidas, quando estão de alguma
forma relacionadas ao texto constitucional e não ao campo normativo
infraconstitucional. De certa forma, pode-se dizer que qualquer processo jurídico que
de alguma maneira discuta princípios e artigos da Constituição pode ser julgado pelo
tribunal. Essa dupla competência – última instância do poder judiciário e tribunal
constitucional – levou o jurista português José Joaquim Gomes Canotilho, referência
incontornável para o direito brasileiro, a afirmar, em entrevista ao jornal brasileiro
Folha de São Paulo, que o STF seria um dos tribunais mais poderosos do mundo, por suas
competências, mais amplas que as da Suprema Corte dos Estados Unidos ou de qualquer
tribunal europeu. Foi nesse tribunal que realizei pesquisa etnográfica entre os anos de
2011 e 2013. Minha pesquisa de campo percorreu, assim como uma ação jurídica, uma
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
28
série de instâncias no interior do STF, acionando diversas autorizações para cada parte
da pesquisa. Durante o tempo da pesquisa frequentei tanto os julgamentos como os
gabinetes dos juízes e os setores administrativos. A pesquisa de campo envolvia
observação e entrevistas com funcionários e ministros, além de pesquisa documental
com e nos processos. Parte dos dados analisados nesse artigo é proveniente de
entrevistas com funcionários, ministros, advogados e observações de campo, mas
também se referem ao modo como o STF aparece em outras instâncias, como jornais,
comentários de políticos, sabatinas no Senado Federal (públicas e transmitidas pela
STF Senado).
12 Diante disso, consideremos como ponto de partida as indicações dos ministros, um dos
efeitos da série de outros processos que pretendo descrever.
As indicações como primeiro efeito
13 As indicações dos ministros do STF brasileiro podem ser tomadas como uma primeira
questão para análise, dado que demandam dos futuros ministros ou candidatos a vagas
no STF um tipo de atuação política que os coloca em outro registro de relações,
diferentes daquelas usualmente estabelecidas como sine qua non no mundo jurídico
brasileiro. Os comandos constitucionais brasileiros para a escolha de um ministro do
STF estão no artigo 101.º da Constituição Federal, que declara que o Supremo Tribunal
se compõe de 11 ministros, entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos e
que possuam “notório saber jurídico e reputação ilibada”. São escolhidos pelo
presidente da República e aprovados pelo Senado Federal.1 Mas quem de fato diz ou
reconhece esses critérios – mais do que o presidente e os senadores – são aqueles que
integram uma complexa rede de diferenciação própria ao universo jurídico brasileiro.
Reputação e notório saber são, portanto, efeitos dessa rede, de seus modos de
instanciação e constituição, ou seja, efeitos de como no interior do universo jurídico se
reconhecem qualidades que tornam alguns juristas indicáveis para os cargos nos
tribunais superiores.
14 Poucos ministros comentam seus próprios processos de indicação. 2 Talvez exatamente
porque a indicação coloca em evidência um qualificante reconhecidamente político –
que insere os futuros ministros em posição vulnerável da qual, depois de empossados,
esforçam-se por se afastar rapidamente. Alguns dos ministros que entrevistei falavam
da surpresa de terem seus nomes avaliados pelo presidente da República. Contudo,
juízes ou advogados que manifestam a vontade de assumir o cargo de ministros do STF
reconhecem “fazer mais” do que construir seus currículos e se preparar para
eventualmente terem seu notório saber reconhecido e serem chamados a cumprir a
“missão” (expressão por eles utilizada) de julgar, sentados nas poltronas da suprema
corte.
15 A indicação de um ministro é, mesmo que de modo velado, amplamente entendida
como uma escolha política. Se isso explicasse qualquer coisa, poderíamos parar por
aqui, mas certamente não é o caso. Por um lado, é uma escolha política simplesmente
porque é uma decisão do presidente, que avalia o melhor nome diante da conjuntura,
por sua vez determinada por uma série de fatores que não apenas a facilidade ou
dificuldade da aprovação do nome pelo conjunto de senadores. É também uma escolha
política tendo em vista a importância do cargo e as possíveis implicações na política
nacional das decisões que sejam tomadas. Particularmente no caso brasileiro, não existe
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
29
clareza sobre as posições ou alinhamentos políticos de grande parte dos indicados,
poucos os expõem publicamente. O que se torna público são especulações da imprensa
nacional e dos partidos políticos em torno do nome e dos possíveis posicionamentos
futuros do ministro. Diante das indicações, os políticos estão avaliando os riscos das
posições jurídicas dos futuros indicados. É uma avaliação difícil, tendo em vista que
operar o direito – ou fabricar o direito, para usar o termo de Latour (2010) – não é uma
operação simples que conecta as leis aos fatos ou os fatos às leis; essa operação exige,
sobretudo, uma transformação continuada tanto das leis como dos fatos, operação essa
sintetizada pela expressão corrente no STF: a Constituição é o que os ministros dizem
que ela é.
16 Quando uma vaga no supremo é aberta, na maioria das vezes por aposentadoria
compulsória aos 75 anos, vários nomes de juristas são “ventilados”, expressão utilizada
em referência aos nomes aptos a serem indicados pelo chefe do poder executivo. Esses
nomes que figuram nas listas de “candidatos” devem ostentar algumas qualidades,
cumprir um tipo de gabarito que torne sua indicação possível e viável. Nem sempre o
“notório saber jurídico” é o único critério a prontamente delimitar um pequeno
conjunto de nomes. Dentre essas qualidades, uma delas ganha importância: ser uma
indicação técnica. Um ministro ou futuro ministro considerado técnico, tanto por seus
pares como por políticos que irão aprovar seu nome no Senado Federal, consegue
acionar um tipo de garantia de independência em suas decisões que facilita a aprovação
de seu nome e também garante uma posição mais confortável na dinâmica interna do
próprio tribunal. Esse critério que identifica os indicados como sendo técnicos está
relacionado a vários elementos da trajetória de cada um deles, em especial a
parcimônia das relações com partidos políticos.
17 Em uma recente publicação – um caderno de curiosidades editado pelo ministro decano
do STF Celso de Mello – podemos encontrar alguns indicadores dos critérios das
indicações:
“Desse total (287 Ministros), compreendidos ambos os períodos históricos [Império
e República], todos os Ministros – exceto os Ministros Néri da Silveira, Cezar Peluso,
Eros Grau, Cármen Lúcia e Menezes Direito – graduaram-se, no Brasil, por
Faculdades públicas de Direito.
No Império, as Escolas de Direito que forneceram os Juízes para o Supremo Tribunal
de Justiça foram as de Coimbra, de São Paulo (Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco) e de Olinda/Recife” (Mello 2012: 27).
18 A tese de Frederico Normanha Ribeiro de Almeida (2010), cientista político brasileiro, já
demonstrou o papel de algumas universidades na formação das elites jurídicas no país.
Segundo o autor, existe uma hierarquia dos diplomas das faculdades de direito
responsáveis pela formação dos estratos inferiores e superiores daqueles grupos
profissionais. Essa hierarquia estaria de acordo com a conformação da maioria dos
cargos do chamado sistema de justiça. No Brasil, a Universidade de São Paulo formou
grande parte dos juristas consagrados pela doutrina, assim como nos Estados Unidos
esse papel está reservado às universidades de Harvard e Yale.
19 Certamente, o lugar de formação tem um peso na indicação, mas não parece ser
atualmente o fator mais relevante; tampouco a relação se dá exclusivamente por conta
de uma possível melhor formação. Os modos de diferenciação que compõem o universo
do direito são tanto mais complexos quanto menos diretos, ou seja, não se trata apenas
de mérito, mas de relações.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
30
20 Se um diploma de uma universidade prestigiada pode ser um critério na indicação, ele
deve ser acompanhado por vários outros. Determinados lugares no interior do sistema
de justiça possibilitam que um nome seja cogitado para uma vaga na corte. Em
entrevista a mim concedida durante a pesquisa no STF, o ministro Luiz Fux ressalta
alguns deles.3 Segundo o ministro, é comum que desembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo figurem nas listas que chegam até a presidência. Ainda
segundo o ministro Fux, os estados da federação têm vagas em determinadas
composições do supremo tribunal. No caso da sua indicação, ele afirma que “tentou
bastante”. Na primeira vez – conta ele –, a vaga supostamente pertenceria ao Rio de
Janeiro, seu estado de nascimento, mas o indicado foi o ministro Menezes Direito,
também ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como ele, porém “mais
antigo”.
21 Nesse caso, dois critérios operaram juntos: o primeiro, ser o ministro do estado do Rio
de Janeiro, e o segundo, ser proveniente de um tribunal superior, o Superior Tribunal
de Justiça. Tribunais superiores como o STJ ou o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
tradicionalmente têm alguns de seus membros indicados ao STF como “candidatos
naturais”. Com a morte do ministro Menezes Direito, a vaga do Rio de Janeiro e do STJ
ficou em aberto, podendo o ministro Fux “concorrer” novamente. Nessa segunda
tentativa, “queriam uma mulher”; me disse o ministro, foi escolhida, então, a ministra
Carmem Lúcia. Na próxima vaga aberta, seu nome pôde finalmente ser considerado
para a disputa.
22 Para “concorrer”, o futuro ministro precisa buscar apoio, formando listas com
assinaturas de políticos, magistrados e advogados prestigiados, que serão enviadas a
representantes do poder executivo. Costumam também reunir-se com ministros de
Estado, em especial com o ministro da Justiça, para se “colocarem à disposição”. É
dessas reuniões que saem as outras listas que serão encaminhadas ao presidente da
República.
23 O apoio de pessoas tidas como “influentes” dentro do poder executivo ajuda muito um
candidato à vaga no STF, ao mesmo tempo que coloca o futuro candidato em situação
desconfortável. Como me dizia um dos funcionários do STF, “é preciso que o ministro
tenha cautela nessa busca de apoio, porque o que seria uma atuação normal é sempre
usado para acusá-lo de fazer promessas a partidos ou políticos”. Uma das formas de
“cautela” é que sejam os advogados apoiadores aqueles a buscar os apoios de
deputados, senadores e governadores. O candidato apenas se reuniria com as figuras de
“maior peso”, ou seja, mais influentes na indicação. Certamente isso não é uma regra
que vale para todas as indicações, mas um tipo de modelo e resguardo a ser observado.
24 Diz-se também que os governadores dos estados federados, especialmente os aliados
políticos do governo federal, mas não exclusivamente, “fazem campanha” nas
indicações, tentando assegurar vagas, dando a entender que se supõe serem os
ministros, em alguma medida, representantes de suas regiões mais do que
representantes de determinadas posições jurídicas ou políticas.
25 Um dos exemplos mais recentes é a indicação do ministro Edson Fachin. Sua possível
indicação fez com que diversos jornais publicassem matérias com sua biografia,
situando o ministro como aliado ao Partido dos Trabalhadores – considerado um
partido de esquerda e, à época, o partido da presidente –, supostamente defensor das
ocupações de terra realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e da
legalização do aborto. Ainda assim, o futuro ministro contou com o apoio fundamental
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
31
do governador de seu estado de origem, assim como dos senadores paranaenses filiados
ao partido de oposição ao governo federal. Em defesa do candidato, um dos senadores
da oposição declarou: “Ele é candidato a juiz e não a uma vaga na política; o que deve
importar é que seja um candidato técnico”. Nesse sentido, tanto juristas como políticos
reafirmam e entendem haver uma separação que deve ser marcada.
26 Ser um candidato técnico, ou pelo menos ser reconhecido como tal, permite ao indicado
ultrapassar uma fronteira mais ou menos delineada entre a política como jogo de
interesses e a técnica como pura “aplicação” da lei. Técnica e política ganham aqui uma
primeira separação, que tanto evoca uma distinção moral entre política e direito como
reforça a ideia de que se trata de coisas ou campos distintos com suas próprias formas
de regulação. Ao mesmo tempo, é justamente quando um candidato pode ser
considerado técnico que ele alcança uma posição política que pode garantir o trânsito
entre esses dois domínios.
27 A Procuradoria-Geral da República (representantes do Ministério Público), assim como
a Advocacia-Geral da União (advocacia do poder executivo), também são celeiros de
nomes sempre lembrados nas listas que chegam à presidência. Na composição atual da
corte, três ministros vieram do Ministério Público, tendo dois deles ocupado o cargo de
Procurador-Geral da República, e dois outros ministros foram advogados da União.
Nesses últimos casos, a escolha tem pouco a ver com a indicação em si, mas, sobretudo,
com a atuação dos futuros ministros.
28 Procuradores e advogados públicos ou privados, quando indicados, são alçados ao cargo
de juízes. Existe aqui uma transformação que, aos olhos leigos, parece pouco
significativa, mas que para o mundo jurídico carrega uma marca: passam para “o outro
lado do balcão”, como se costuma dizer no Supremo Tribunal. Ou seja, se antes
ocupavam a tribuna como defensores ou acusadores, assumem, com a indicação, outro
papel no sistema de justiça. Essa diferença significativa é vista entre os ministros e
servidores do tribunal como positiva, pois carreiras jurídicas diferentes permitem uma
pluralidade de “sensibilidades jurídicas”. Nos termos locais, dinamizam-se os
paradigmas de decisões. Dizem também os funcionários que experiências diversas, não
só jurídicas como também políticas – ou seja, do mundo da política –, trazem ao
tribunal um tipo de expertise necessária ao bom andamento processual e às boas
relações entre os três poderes da República.
29 Ainda que a finalidade da abertura da composição do tribunal a diversas carreiras
jurídicas seja a diversidade de experiências, quando um ministro toma posse, o que se
espera é uma conversão, um tipo de alinhamento ontológico. Explico. Certa vez o
ministro Celso de Mello, decano da corte, afirmou em um julgamento que advogados,
promotores e juízes são “ontologicamente” diferentes. Durante entrevista com o hoje
ministro Luís Roberto Barroso, em determinado momento ele me disse: “Eu tenho alma
de advogado”. Não o entrevistei depois da posse, mas acompanhei alguns de seus
primeiros julgamentos. Recordo-me de que algumas vezes, especialmente quando o
então novo ministro mostrava preocupação com os advogados da tribuna, tentando
encaminhar alguma questão para facilitar o trabalho de seus antigos colegas, era
prontamente lembrado por seus pares de que não era mais advogado.
30 Uma nomeação para o STF acionaria uma passagem a outro tipo de ontologia, nos seus
termos, que me parece significar outro tipo de perspectiva sobre as causas e os
processos, outro tipo de relação com causas e pessoas que deve ser marcado por um
tipo de “estética”. O uso do termo se relaciona com a definição stratherniana, que
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
32
evidencia a capacidade de adequação e a força de persuasão das formas (Strathern
1991), sendo as formas a que me refiro agora as formas de relação. Nesse sentido, a
forma das relações entre os agentes processuais deve estar precisamente delimitada,
pelo menos no momento do julgamento plenário: a forma pública do processo.
31 Diversas posições nos processos não devem ser confundidas, sob pena de suspeição das
decisões do tribunal. Ainda que no Brasil não operem as classificações de advogados
que operam nos sistemas da Common Law, em especial as classificações dos advogados
que aparecem no Reino Unido – me refiro à diferença entre barristers e solicitors –,
existem classificações que garantem a uma parcela dos advogados e juízes a condição de
“juristas” – que não funciona como termo genérico, mas identifica advogados – ou
juízes – influentes política e juridicamente, na medida em que são considerados mais do
que operadores do direito, mas, sobretudo, pensadores do direito. As grandes causas
que passam pelo STF envolvem esses nomes que compõem o que se costuma chamar de
elite jurídica brasileira.
32 Mais recentemente, as indicações levam em conta o enfrentamento das desigualdades
de gênero e o racismo, bastante evidentes nos tribunais superiores brasileiros. A
primeira mulher a ser indicada para ministra do STF foi Ellen Gracie, nomeada em 2001;
o primeiro negro, o ministro Joaquim Barbosa, foi indicado em 2003.
33 Quando as listas com os nomes qualificados chegam até a presidência, alguns nomes são
selecionados para uma entrevista, realizada primeiro com o ministro da Justiça, e
depois com a/o presidente. A trajetória do ministro Luís Roberto Barroso, descrita por
ele durante a sabatina (entrevista) no Senado Federal, destaca esses momentos em que
os candidatos são arguidos. Disse o ministro:
“Eu não sei exatamente como eu cheguei aqui, senador. Eu verdadeiramente não
tinha uma articulação política relevante. Eu fiquei muito honrado, muito feliz e
muito surpreso. Geralmente, quando meu nome aparecia em alguma disputa, em
alguma vaga para o Supremo, o sujeito que ia dizia que estava disputando comigo.
Porque eu era o que não tinha nenhuma chance. Eu verdadeiramente fui pego de
surpresa. Eu vou dizer para o senhor com absoluta honestidade as pessoas que em
algum momento falaram comigo sobre esse assunto. O ex-parlamentar e meu amigo
de nome Sigmaringa Seixas me disse: ‘seu nome é um dos nomes que a presidenta
está considerando’. O ex-secretário da Casa Civil, Dr. Beto Vasconcelos, foi uma
pessoa que mais de uma vez me disse: ‘seu nome é um nome que gostaríamos de ver
no Supremo’. Mais proximamente do desfecho, o ministro José Eduardo Cardoso
conversou comigo, e depois a presidenta da República me convocou. Eu estive no
Palácio do Planalto levado pelo ministro da Justiça. Conversamos por
aproximadamente uma hora, ela me fez uma sabatina inteiramente republicana.
Não me perguntou sobre nenhuma questão específica. Me perguntou sobre
separação de poderes, questões sobre conflitos federativos. Conversamos sobre
royalties. Ela me perguntou a posição que eu defendia para o Rio de Janeiro.
Portanto, tivemos uma conversa republicana. Depois, na semana seguinte, ela me
chamou pela segunda vez, conversamos uns 15 minutos sobre generalidades, e ela
me fez o convite”.4
34 Embora secretas, algumas dessas reuniões são noticiadas pela imprensa, que passa a
afirmar que determinados nomes serão os escolhidos. No entanto, ironicamente, na
maioria das vezes que um nome sai na imprensa como certo, outro nome é de fato
indicado. Alguns dos funcionários do tribunal com quem conversei durante processos
de indicação me dizem que o próprio executivo “soltava” alguns indicados para a
imprensa, de modo a “testar” a facilidade ou a dificuldade de sua aprovação.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
33
35 Outro fator relacionado à indicação é a própria composição do tribunal. As cadeiras
vagas têm nome e algumas vezes têm perfil. Em alguma medida, a nova indicação deve
manter certo equilíbrio no tribunal. Esse equilíbrio é apreciado a partir das supostas
diferentes técnicas jurídicas de quem sai e de quem entra, as quais permitem uma
classificação dos juízes como “conservadores” ou “progressistas” (liberais), ainda que
essa classificação seja sempre provisória e sujeita à própria dinâmica interna de
produção de decisões e da relação entre os juízes. Para esse suposto equilíbrio, o
currículo dos ministros ganha importância. Se foram juízes, o histórico de decisões
tomadas pode ser analisado, assim como a atuação dos procuradores e advogados.
36 Quando finalmente indicados − processo que pode levar de dias a meses −, seus nomes
são entregues ao Senado Federal, que irá realizar a chamada sabatina, que acontece
antes da votação em plenário. Esse momento, de sabatina, antes entendido como mera
formalidade, exigiu mais recentemente dos candidatos um preparo “político”, tendo em
vista que políticos contrários à indicação tentam constranger o candidato com a
possibilidade da não aprovação do nome. De fato, na história recente, nenhum nome foi
barrado pelo Senado, ainda que diversas vezes a ameaça tenha sido declarada.
37 Quando nomeados, o costume é que o novo ministro receba de presente de seus
apoiadores a toga que irá usar nos futuros julgamentos. Algumas delas são herança de
outros ministros ou juízes. Também escolhem o nome pelo qual preferem ser chamados
no tribunal. Já empossados, independentemente de sua experiência ou de seu “notório
saber jurídico”, serão ainda “novatos”, devendo respeito tanto ao tribunal e à sua
história, quanto aos ministros mais antigos e sua autoridade já consolidada. A
antiguidade é talvez o critério que mais opera nas relações estabelecidas, tanto entre
ministros como entre os funcionários do STF.
38 A indicação do presidente da República mobiliza, portanto, todos os critérios
apresentados. Esses critérios compõem a política da política, mas também, e sobretudo,
a política do direito. Nenhum presidente indica um nome completamente desconhecido
do universo jurídico. Os ministros são, em certa medida, efeitos desses critérios, do aval
de seus pares, do lugar em que atuam, da faculdade em que estudaram. Embora o
processo de indicação, em grande parte das vezes, exija uma atuação política dos
candidatos, já depois de empossados os ministros promovem um afastamento
estratégico do processo de sua indicação, insistindo que o direito é técnica.
39 Contudo, como veremos na próxima seção, mesmo a técnica guarda sua própria
política, acionada na estética das relações entre os ministros e entre os processos. Nessa
medida, enquanto nesse primeiro momento a política aparece como uma forma de
articulação necessária e ao mesmo tempo a ser obscurecida de modo que apenas a
técnica reste como fio condutor de uma indicação que envolve agentes externos ao
tribunal, política e técnica, a partir de agora, passam a operar as relações internas ao
tribunal, o modo como as decisões podem ser articuladas a partir das formas de gestão
das relações entre os ministros e dos ministros com as causas, ou ainda, a estética das
relações e a política dos processos.
Uma estética das relações
40 Os registros históricos do STF dão conta de sua criação em 1891, durante a vigência da
primeira Constituição republicana brasileira. Embora o atual STF seja diferente daquele
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
34
tribunal de mais de 100 anos atrás, quer nas atribuições, quer na composição, existe
uma ideia recorrente de tradição nas falas dos ministros. Essas tradições dizem
respeito, principalmente, ao modo de atuação de seus ministros e funcionários na
resolução de questões, especialmente as mais conflituosas, e também à relação do
tribunal com os demais poderes da República. Ainda que a ideia de tradição seja sempre
reposicionada e reinventada: o que é tradicional ou aparece como tal nem sempre é a
mesma coisa; a continuidade certamente é uma marca de valor observada pelos
ministros, mas é uma continuidade que incorpora o descontínuo (as mudanças
necessárias), como se estivesse o tempo todo, na sugestão de Pottage, “em ambas as
extremidades do contínuo” (2004: 9, a respeito de Strathern) – ou seja, quanto mais
tradição, mais modernidade.
41 Um dos efeitos dessa “tradição” deve ser observado principalmente pelos ministros
mais novos, pelo menos durante o tempo em que “pagam pedágio” – expressão dos
funcionários antigos do STF que se refere a um tempo em que os novatos devem
permanecer na sombra dos mais antigos (e mais antigos aqui envolve até os que já não
estão no tribunal, pois, uma vez ministro, sempre ministro; é um cargo que não se
perde, e aqueles que se aposentam são chamados de “ministros de sempre”). Existe um
comprometimento dos ministros com uma prática pretérita que mobiliza sua atuação
presente. É possível então, por conta de tais vínculos, que a posição jurídica ou política
de um ministro não seja evidenciada em seu voto nos primeiros processos em que irá
votar.
42 Além disso, um bom ministro ou um bom advogado de tribunal superior seria também
definido por seguir de modo mais ou menos fiel esse conjunto de tradições/práticas do
tribunal. Ainda que essas práticas não sejam totalmente estabilizadas, é preciso um
esforço para não revelar algum rompimento, ou um dissenso capaz de constranger
posições diferentes.
43 As restrições dos ministros mais novos são rapidamente observadas nos julgamentos:
frequentemente interrompidos em seus votos, raramente interrompem outros colegas.
Também não é comum que um ministro recém-chegado inaugure uma divergência com
alguma jurisprudência já consolidada do tribunal. O costume é que se alinhem à
corrente majoritária na votação, como se fosse necessário um tempo de experiência
para incorporar as práticas, até que possam travar um debate com os demais ministros.
44 Como esclarece o ministro Luiz Fux:
“Quando um ministro chega a um colegiado, a tendência é acompanhar a
jurisprudência consolidada, que normalmente está nos votos majoritários. Você
pode eventualmente ressaltar um ponto de vista, mas a tendência é acompanhar.
Você não pode chegar a um colegiado tentando mudar tudo. Eu aprendi que o
convívio no colegiado é assim”.5
45 Essa posição é também estratégica, na medida em que se sabe que uma mudança de
jurisprudência ocorre lentamente, a partir de pequenas “ressalvas”. Qualquer posição
diferente dessa tradicionalmente observada pelos novatos sofre retaliações dos
ministros mais antigos. O “convívio no colegiado” exige certo “jogo de cintura”, que
permite ou não aos juízes sustentar alguma posição. Mesmo entre os mais antigos, abrir
a divergência em casos tidos como irrelevantes não parece ser adequado para a
dinâmica do colegiado. A fim de fazer ou compor a maioria e ser acompanhado pelos
colegas em processos importantes, seria preciso saber perder e recuar em alguma outra
posição.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
35
46 Há também alguns juízes que sentem certo desconforto em ocupar a posição de voto
vencido ao declararem um voto isolado da maioria, ou seja, não acompanhado por
nenhum outro ministro. Conforme me disse o ministro Luís Roberto Barroso, alguns
ministros, quando percebem a tendência do colegiado, podem mudar seu voto, tendo
em vista que ficar vencido seria um ônus que, a depender do caso, “não valeria a pena”.
Não valeria a pena pela possibilidade de alianças futuras e também porque uma decisão
proferida por um plenário dividido deixaria sempre alguma questão em aberto, como se
perdesse um pouco de sua eficácia (o que pode ser estratégico em alguns casos mais do
que noutros). Neste caso, trata-se menos de um receio individual do que de uma
preocupação em preservar os fundamentos da “casa”.
47 Segue outro trecho da entrevista com o ministro Fux, no qual identifica outra
apreciação possível do voto contracorrente:
“Às vezes eu fico vencido e fico satisfeito com o que eu propus; mas eu não tenho
por hábito ficar vencido. Quando fico vencido não me abalo, mas não tenho por
hábito, não. O ministro Marco Aurélio pode falar melhor sobre isso. Ele acha que a
beleza do colegiado é o voto vencido. Um voto vencido isolado é ruim, não tem
beleza nenhuma. Um voto vencido é ir contra o voto da maioria e depois ter de [se]
submeter ao colegiado. Tem de saber viver em colegiado; se o melhor para o país o
colegiado acha que é aquilo, vamos embora, vamos adotar a posição”. 6
48 A disputa de posição poucas vezes acontece em casos mais “comuns”; ao contrário, são
os casos tidos como de maior impacto que mobilizam o debate entre os ministros, com
destaque para a especificidade dos julgamentos plenários, que, no Brasil e
diferentemente da maioria dos países da Europa e Estados Unidos, são públicos e
televisionados. Se as disputas mais acirradas no plenário são exceções, existe uma
disputa sutil, ou quase sempre sutil, que opera no que chamo aqui de “lógica dos
constrangimentos”. O uso dos precedentes nos votos é uma das formas que ela assume.
Citar como precedente uma posição anterior de um ministro presente no julgamento –
ainda mais se o ministro citado for considerado uma autoridade em determinado
assunto, ou seja, um especialista na área do direito que está sendo debatida – o
constrangeria a seguir a mesma posição ou, pelo menos, a justificar uma eventual
mudança de posicionamento.
49 Conforme algumas entrevistas e as observações dos julgamentos, há no plenário alguns
ministros considerados como lideranças. São identificados como aqueles que falam
mais e falam sempre. Às vezes levantam a voz, expondo seus argumentos de modo mais
enfático; têm a capacidade de “falar sem serem interrompidos” (Souza 2012: 112),
embora sejam eles a interromper os demais ministros quando estão a proferir seus
votos.
50 Acompanhei, durante o trabalho de campo, a entrada de três novos ministros.
Conversando com alguns funcionários do tribunal, com os quais mantinha contato
frequente, constatei que havia sempre entre eles uma expectativa de como se
comportaria o novo ministro diante dos ministros mais antigos. Certa vez, um deles me
disse: “Acho que esse ministro novo vai ser importante, não vai se impressionar com
quem levanta a voz no plenário. Se determinado ministro conhece direito alemão, se
sabe muito, esse novo que vem aí tem até mais conhecimento”.
51 A “demonstração de domínio da competência judicial” (Souza 2012: 113) é um
diferencial que coloca alguns dos ministros em posição considerada como de liderança
e autoridade. Contudo, como demonstra Souza (2012), a autoridade dos ministros pode
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
36
variar a cada processo, a depender da matéria em julgamento. Por essa razão, ainda que
alguns votos sejam considerados mais relevantes do que outros em determinadas
matérias e que alguns ministros tenham maior capacidade de influência nos votos dos
demais, não é possível localizar alianças permanentes no plenário. O que parece existir
são alinhamentos contingenciais, de acordo com cada processo. Sendo assim, é possível
afirmar que não existe apenas um direito, embora haja uma “prática compartilhada”
entre as diversas áreas do direito. Essas áreas de especialidade ou subdivisões do
conhecimento jurídico implicam posições diferentes dos ministros. Um ministro
considerado liberal, ou “garantista” em seus votos em matéria de direito penal, pode
ser conservador em outras áreas do direito, por exemplo. Em suma, as posições
jurídicas de cada ministro podem mudar de acordo com a área do direito debatida em
cada processo.
52 Aqueles que são considerados especialistas em determinada matéria carregam um tipo
de lastro, evidenciado no voto e na quantidade de vezes em que são citados pelos
colegas. Para abrir divergência com um ministro nessa posição seria preciso avaliar o
risco do próprio constrangimento.
53 Não existem no tribunal espaços de discussão entre os ministros que não sejam os
espaços de julgamento, nas turmas ou no plenário.7 A rigor, os ministros não discutem
seus votos com os colegas antes dos julgamentos, apenas trocam impressões com seus
pares enquanto esperam, no salão branco – espaço ao lado do plenário. Seria o espaço
do julgamento o lugar privilegiado para o debate e, para tal, se espera dos magistrados
comedimento na argumentação e na contra-argumentação. Seria preciso saber
discordar de um voto, não negando ao posicionamento contrário a possibilidade de ser
considerado correto sob outra perspectiva, ou seja, garantindo a pluralidade de
posições.
54 A conversa entre ministros antes dos julgamentos é malvista pelos colegas, que
entendem que existe alguma posição sendo articulada da qual não fazem parte. Os
funcionários mais antigos do STF dizem que o tribunal funciona em “ilhas que trocam
processos”, mas com pouca conexão. Na realidade, o que me pareceu é que as
divergências de posição entre os ministros e seus gabinetes conformam um tipo de
disputa que se dá na relação entre os gabinetes, muito mais do que entre os ministros. 8
De todo modo, quando existe uma questão “complexa”, as conversas podem acontecer,
desde que com a discrição necessária. A posição dos colegas é avaliada, sobretudo, na
análise dos votos que os ministros costumam dar em determinadas matérias; essa é a
medida da temperatura do plenário, que pode ou não permitir o debate de determinado
processo.
55 O conhecimento da dinâmica dos votos e das relações entre ministros faz também
“bons” juízes: aqueles que têm o conhecimento técnico necessário e detêm a expertise
que permite que suas posições se movimentem no tribunal, a partir de um tipo de
política que envolve alianças e, sobretudo, a gestão das relações e dos processos. A
mesma expertise funciona para advogados especializados em tribunais superiores. É
justamente a experiência no tribunal que permite que realizem com maior precisão
essa avaliação. Como afirmaram McAtee e McGuire (2007: 264), analisando a Suprema
Corte dos Estados Unidos, um advogado com maior experiência na corte carrega
maiores possibilidades de ganhar uma causa, persuadindo os juízes, do que aqueles com
menos experiência. Essa “experiência” opera também nas temporalidades processuais,
nos modos de gerência do tempo de propositura e de decisão de cada ação judicial.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
37
Muitas vezes, saber operar na dinâmica do tribunal é mais importante do que construir
um argumento jurídico potente. Essa dinâmica envolve, como vimos, a relação entre os
ministros e as temporalidades tradicionalmente observadas, mas também as dinâmicas
próprias de cada causa a ser julgada, ou seja, o que passo a chamar de política dos
processos.
A política dos processos
56 O que chamo aqui de “política dos processos” relaciona-se aos modos estratégicos de
administração da economia processual, com vistas a garantir determinadas posições
jurídicas. Destaco a ideia de que o que circula no tribunal através dos processos são
causas jurídicas: uma mistura específica entre pessoas e coisas com reverberações,
tendo em vista que os julgamentos do STF funcionam como orientação geral para
qualquer caso semelhante ao que está sendo julgado. Riles (2003) sugere que no estudo
das práticas jurídicas há de se observar a dinâmica entre dois gêneros fundamentais do
direito, o instrumental e o expressivo. Conforme a autora, os atos legais e as
interpretações jurídicas desenvolvem os dois gêneros em sequência. No gênero
expressivo (que produz sentido, e, portanto, produz coisas), a produção de significado é
temporalmente situada, “a expressão ou os sentidos da lei (definições) podem ficar
datados, separados de seus objetos” (Onto 2015: 124).
57 A norma jurídica, quando vista a partir do gênero expressivo, é constituída com base na
separação entre o objeto expresso e a realidade à qual se refere, e é exatamente por isso
que a significação pode ser disputada. Seguindo Wagner, Riles (2003: 192) argumenta
que os atos legais são “símbolos referenciais” que operam no contraste entre o símbolo
e o que ele simboliza. No gênero instrumental, a questão principal está nos modos como
o direito se torna ele mesmo objeto ou produz seus próprios objetos, que significam
menos do que produzem efeitos. Existem, segundo Riles (2003: 192), dois tipos de
objetificação: aquela que opera tornando a realidade objeto da técnica e, portanto,
objetificando a realidade a partir de modelos racionalizados (Samuel 2004), e outra, a
instrumental, que, ao invés de produzir uma separação entre a lei e o mundo por meio
da criação de significados, torna-se ela mesma um objeto no mundo. 9 Nessa medida,
falar em políticas dos processos implica tomar o próprio processo como um objeto em
constituição constante, no qual se articulam práticas, temporalidades e técnicas.
58 Antes de qualquer coisa, como já argumentei em outro lugar (Lewandowski 2014), uma
decisão é efeito tanto das relações, como dos procedimentos administrativos
produzidos por diversos setores do tribunal. Para os propósitos deste artigo, nos
concentramos numa zona dessa trama: a relação entre os ministros e seus gabinetes.
59 A forma de administração carrega consigo o próprio conteúdo. Por isso, uma boa
administração processual nos gabinetes leva em conta outros registros que não apenas
o conteúdo da decisão em si. A avaliação dos processos e seus potenciais é realizada
pelos gabinetes levando em conta as possibilidades de que determinada posição saia
vencedora da votação plenária. De modo mais geral, um processo que não seja repetido
– ou seja, que demande uma decisão extraordinária em plenário – quase nunca é
julgado rapidamente pelo tribunal, pois existe um tempo necessário para sua
maturação, que se relaciona a pelos menos três dimensões.
60 A primeira delas diz respeito à própria posição de relator – como aquele que dirige o
processo. A segunda diz respeito à administração do processo, realizada também pelas
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
38
partes, através da entrega de documentos e respostas às intimações do tribunal.
Finalmente, existe também uma ideia de que processos decididos muito rapidamente
não são devidamente estudados e avaliados pelo tribunal. Essa última dimensão se
relaciona ao que Latour (2010) descreveu como “sustentação da dúvida”. Conforme o
autor, a operação do direito e os procedimentos técnicos se voltam a sustentar uma
“dúvida” pelo maior tempo possível, como garantia de que uma solução (a sentença)
não foi precipitada, “arbitrária” ou “superficial” (Latour 2010: 221). Nessa medida,
enquanto as pastas dos volumes dos autos processuais não estiverem amassadas,
riscadas, quase a se desfazer – indicativos de que aquele processo passou pela mão de
várias pessoas, foi revirado, visto e revisto −, o processo não estará pronto para ser
julgado. Um processo com “substância” seria aquele que teria passado por várias mãos.
61 A gestão de um processo compõe aquilo que chamo de “política dos processos”. A
avaliação da melhor conjuntura para que uma decisão se efetive implica atentar para
modos de avaliação do tempo da decisão. Essa dinâmica processual é melhor observada
justamente nos experimentos judiciais que tentam provocar uma mudança na
jurisprudência.
62 O momento adequado para propor uma mudança nos entendimentos já firmados pela
corte está relacionado ao tempo dos ministros na corte, ao tempo da própria
jurisprudência e certamente aos processos e seus advogados, na medida em que não se
muda uma jurisprudência sem um processo cujo objeto demande que determinado
precedente seja trazido ao debate. Caso não apareça no tribunal esse processo, uma
jurisprudência terá vida longa. Para propor uma mudança seria preciso então avaliar
todas essas dimensões, mensurando o risco de uma ação jurídica.
63 Conforme o ministro aposentado Sepúlveda Pertence: “Não se desafia uma
jurisprudência que acabou de ser firmada. Tem de ir aos poucos, corroendo-a desde a
base até tentar voltar à cúpula”. Reverter desde a base significa operar uma
desestabilização do precedente em tribunais de primeira e segunda instâncias, criando
um tipo de pressão processual que chega ao STF por meio dos recursos julgados em
última instância. Para operar uma reversão, cabe aos advogados a leitura da
“conjuntura do tribunal”, avaliada de acordo com as decisões mais recentes. Apresentar
uma questão ao tribunal na conjuntura imprópria é um “risco” que evidentemente
sempre existe, já que ninguém pode afirmar com certeza qual será o resultado de um
julgamento. Ainda assim, pensa-se que é possível minimizá-lo caso se observe a
conjuntura.
64 O risco refere-se justamente ao fato de que uma decisão da corte vincula, na maioria
das vezes, todas as outras decisões similares em outros tribunais de instâncias
inferiores, uniformizando a resposta para determinada questão. Até que chegue ao STF,
uma questão jurídica será respondida de formas distintas pelos tribunais de primeira e
segunda alçada, e isso favorece os interesses jurídicos de alguns advogados.
65 Contudo, é preciso observar que essa ideia de uniformização é também marcada por
uma instabilidade, na medida em que os documentos produzidos pelo STF como
decisões são usados pelos demais tribunais de modos distintos, ou seja, existe uma
manipulação (e não estou conferindo sentido negativo, a princípio) da verdade
processual, um manejo na direção que se queira dar, e é exatamente desse modo que as
causas se movimentam.
66 A conjuntura do tribunal não apenas opera nas tentativas de mudar uma
jurisprudência, mas também na propositura de uma ação. Narrando a trajetória de um
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
39
de seus casos como advogado – tratava-se de questão que envolvia o monopólio dos
correios –, o ministro Luís Roberto Barroso destacava o erro da propositura daquela
ação: “era uma ação muito arriscada”, dizia o ministro; “começar a discutir essa
questão numa ação direta é jogar o jogo inteiro numa cartada só”. 10 O que o ministro
parece dizer é que administrar os riscos das decisões faz parte de um cálculo realizado
tanto pelos juízes como por procuradores e advogados, especialmente quando se trata
de processos que correm nos tribunais superiores.
67 A procuradora da República, representante do Ministério Público, que entrevistei
durante a pesquisa também mencionou que cálculos processuais podem ser feitos de
modo a potencializar as chances de o tribunal julgar favoravelmente uma questão
apresentada. É importante destacar que se trata aqui, sobretudo, de questões
entendidas como relevantes, e não de recursos corriqueiros.
“Os processos estratégicos, aqueles que você acha que têm um poder
transformador, esses você calcula o tempo… Eu tenho uma questão que está aqui
prontinha [apontava para estante da sala, mostrando uma pasta], só que eu tenho
uma liminar favorável do ministro Ayres Brito; então, pra que eu vou submeter esse
processo agora, com risco de perder? Eu preciso deixar que se criem fatos
consumados. Todo mundo faz isso, os advogados fazem”. 11
68 Os processos julgados pelo plenário permitem aos ministros também uma análise dessa
conjuntura do tribunal e do tempo de liberar um processo para julgamento. Assim
como os advogados ou a Procuradoria, os ministros, em alguns casos, analisam as
possibilidades de o plenário acompanhar um voto que será proferido. Esses cálculos
todos são várias vezes incorporados à ideia de técnica jurídica, de expertise específica da
prática de conhecimento, mas também de política.
69 A trajetória da ADPF 54 – referente à questão da possibilidade de aborto em casos de
anencefalia –, relatada pelo ministro Marco Aurélio, é um bom exemplo dessa dinâmica.
12
A petição que deu origem ao processo chegou ao STF em 2004, com pedido liminar. O
pedido foi rapidamente liberado para entrar na pauta, o que não aconteceu, resultando
então numa decisão monocrática que concedeu o pedido no dia anterior ao início do
recesso forense.13 Ou seja, o aborto em casos de anencefalia ficou liberado durante todo
o recesso do tribunal. Na volta dos ministros, a liminar foi pautada para referendo e
cassada pelo colegiado. O ministro relator decidiu então “segurar” o processo no
gabinete.
“Quando cassaram a minha liminar, eu percebi que a concepção era contrária ao
pano de fundo. Então coloquei o processo na prateleira, porque não envolvia
interesses subjetivos. Quando o tribunal liberou as pesquisas com células-tronco,
muito embora por um escore muito apertado de 6 a 5, eu entendi que era a hora, e o
resultado foi muito satisfatório. Existe uma avaliação pelos precedentes, pelos
enfoques realizados até então. Nós temos sempre um termômetro. Aí devemos atuar
no campo político-institucional”.14
70 A ADPF 54 foi julgada apenas em 2012, quase oito anos depois de ter sido apresentada.
Na avaliação do ministro Marco Aurélio, caso fosse julgada antes disso, o resultado teria
sido diferente. O tempo na prateleira, que ultrapassa o tempo procedimental, garantiu
ao processo o resultado esperado por seu relator.
71 A liberação de um processo pelo relator não significa, portanto, que ele será
prontamente pautado, já que existe aqui uma aposta de que os ministros não facilmente
retrocedem em seus entendimentos e que um processo só deve ser pautado sob
determinada configuração do plenário.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
40
72 A rigor, a gerência da pauta, ou seja, a decisão que estabelece a ordem dos processos a
serem julgados, é prerrogativa do presidente do tribunal. Os funcionários mais antigos
e os ministros aposentados com quem pude conversar identificam que, nos últimos
anos, os presidentes têm potencializado o poder de pautar o tribunal, tornando a pauta
um dos instrumentos dessa política dos processos. Conforme o ministro Sepúlveda
Pertence, a pauta se tornou objeto da política do tribunal durante a presidência do
ministro Nelson Jobim.15 Antes dele, segundo Pertence, a pauta obedecia à ordem de
liberação dos processos pelos gabinetes, ainda que já existissem pedidos dos relatores
para que determinado processo pudesse ser antecipadamente pautado. O ministro
citado como aquele que institui a política da/na pauta é exatamente um dos poucos
com experiência na política partidária; sua gestão como presidente do tribunal trouxe
uma forma de se fazer política, agora convertida em estratégia processual, ainda que
vez ou outra contestada no próprio tribunal.
73 Com o “poder de pautar”, a presidência, caso imagine que seu entendimento não será
acompanhado pela maioria, pode segurar o processo. Essa avaliação é feita pelo
conjunto do gabinete e não apenas pelos ministros individualmente. A lógica de segurar
ou liberar um processo é um instrumento que pode potencializar determinado
resultado, ainda que não existam garantias. Outro critério que aparece na constituição
da pauta são os processos considerados importantes para o presidente, que sendo
julgados ficariam para a história como “legado” daquela gestão.
74 Se um processo levar anos para ser julgado, as situações a que ele se refere tornam-se
“fatos consumados” e tornam qualquer decisão do tribunal sem efeito. Esses
acontecimentos do mundo da vida têm pouca importância, porquanto uma causa
jurídica não se configura a partir de interesses específicos dos sujeitos de um processo
específico. Mesmo que o objeto do processo deixe de existir, ele pode voltar ao tribunal.
Objetivamente, a causa é mais importante que as pessoas no STF, tendo em vista que o
tribunal decide e aplica teses jurídicas com validade para mais de um caso específico.
“Pautar um processo” ganha então quase a mesma importância da decisão, tendo em
vista que, a depender do tempo do processo na fila para ser pautado, a decisão pode ter
“se produzido sozinha”.
75 Já no plenário existe a possibilidade do pedido de vistas, que também segura a decisão
de um processo. Em grande parte das vezes, quando acompanhei as sessões, o pedido de
vistas era feito quando havia um grande debate entre os ministros, evidenciando
divergência entre os entendimentos e dúvidas além das que normalmente ocorrem em
um julgamento. Nesses casos, algum ministro pedia vistas do processo para “estudar
melhor os autos”.
76 Outro cenário possível, e sempre aventado por alguns funcionários do tribunal, é o
pedido de vistas para “ganhar tempo”. Nesse caso, o ministro trancaria a decisão, ainda
que a maioria já tenha sido formada (que a maior parte dos ministros já tenha votado),
para tentar construir novos elementos que possam convencer os demais de seu
entendimento. Tratar-se-ia então, nos termos de um de meus interlocutores, de “pura
política”. O retorno do processo ao plenário pode demorar anos, uma vez que depende
da liberação do voto-vista (voto dado depois de um pedido de vistas de um processo)
pelo ministro e da sua inclusão na pauta do tribunal.
77 Se o colegiado dissolve o poder individual dos ministros, a gestão processual consegue
ditar o ritmo das decisões, e indiretamente, a própria decisão. Uma decisão não só é
política, como objeto da política do tribunal. Desse modo, importa menos quão política
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
41
pode ser uma decisão, no sentido de ser guiada por interesses não revelados, que suas
condições de efetivação dentro do quadro de práticas aceitáveis pelo conjunto de
operadores. Sempre existirá mais de uma resposta possível. Na medida em que a
alquimia do processo decisório envolve teorias, ponderações, dispositivos e também
tempo e negociação procedimental, o ritmo do processo também faz decisão.
Considerações finais
78 Este artigo procurou descrever certas práticas e políticas de um tribunal específico.
Nele tentei demostrar que as decisões são criações jurídicas e que sua estabilidade
depende da capacidade dos agentes para se movimentarem (i) diante de um quadro de
demandas e requisitos dirigidos ao mundo fora do direito, ao mesmo tempo em que
(ii) operam uma política interna que diz menos respeito a uma agenda exterior ao
tribunal do que à negociação intestina em torno de posições, causas e pessoas.
79 Os requisitos da prática jurídica dão sentido à própria prática e a diferenciam de outras.
Todos os requisitos de atuação dos ministros e dos advogados evocam não só uma
dimensão convencional, no sentido dado ao termo por Wagner (1981), como também, e
ao mesmo tempo, a capacidade criativa de manusear os ritmos e temporalidades dos
processos, permitindo que as coisas aconteçam. As posições dos ministros aparecem
como modo de produção da transformação. No entanto, como essa transformação tem
um movimento próprio que quase sempre a oculta, o momento dela é perdido. Todo o
conjunto de formas e relações exige de cada operador do direito – seja ele ministro,
advogado ou servidor – o enfrentamento de possibilidade de mudança e a gestão de
teses jurídicas em conjunturas mais ou menos complexas, tanto inefáveis quanto
perenes. A disputa e as relações entre os ministros operam uma exibição controlada do
dissenso, tendo em vista que qualquer atuação fora de alguns limites mais ou menos
esperados, isto é, já experimentados, pode inviabilizar os alinhamentos necessários.
80 Com efeito, a decisão final – a res judicata, ou a coisa julgada, expressão do direito
romano – tornaria definitiva uma decisão apenas para um processo. As mesmas
pessoas, no mesmo tipo de processo, com o mesmo objeto, não podem reivindicar uma
nova análise ou uma nova decisão. Isso não quer dizer que o objeto jurídico do processo
seja indiscutível, ao contrário, a ilusão de que o processo acabou indica justamente já
estarem em curso os movimentos processuais de desgaste e revitalização das causas e
teses jurídicas.
81 A decisão é efeito do tempo em dois sentidos. Tendo em vista que não se pode discutir
eternamente um processo, termina por tomar por verdade alguma coisa possível. Por
outro lado, as temporalidades processuais marcam a decisão e a orientam, na medida
em que são atravessadas por uma política que está na estética das relações, nos usos e
estratégias processuais que mobilizam os ministros e seus gabinetes em torno de suas
posições.
82 A ideia de política ganha aqui um contorno específico, que se relaciona, mas não se
resume, aos sentidos estabelecidos no debate sobre judicialização e/ou politização do
judiciário. Qualquer decisão, por ser decisão, é política. No entanto, por meio dos
caminhos de um processo amalgamados com as trajetórias dos ministros e de suas
posições, vemos que as formas como se faz e se opera uma política nos tribunais revela
estratégias de direcionamento da verdade e nunca o fim do debate pelo
estabelecimento definitivo da verdade. Esse tipo de verdade alcançada através de um
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
42
processo jurídico é ela mesma a forma aparente da disputa entre vários outros
elementos que, como tentei demonstrar, colocados juntos são capazes de revelar tanto
os meios quantos os fins de uma decisão judicial, ou seja de um lado o que se chama de
política, de outro aquilo que é nomeado como técnica.
Receção da versão original / Original version
2016 / 09 / 15
Receção da versão revista / Revised version
2017 / 12 / 11
Aceitação / Accepted 2018 / 04 / 10
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, Frederico N. Ribeiro de, 2010, A Nobreza Togada: As Elites Jurídicas e a Política da Justiça no
Brasil. São Paulo, Universidade de São Paulo, dissertação de mestrado.
LATOUR, Bruno, 2010, The Making of Law: An Ethnography of the Conseil d’Etat. Paris, La Découverte /
Poche.
LEWANDOWSKI, Andressa, 2014, O Direito em Última Instância: Uma Etnografia do Supremo Tribunal
Federal. Brasília, Universidade de Brasília, tese de doutorado.
McATEE, Andrea, e Kevin T. McGUIRE, 2007, “Lawyers, justices, and issue salience: when and how
do legal arguments affect the US Supreme Court?”, Law & Society Review, 41 (2): 259-278.
McLACHLIN, Beverley, 2000, “Judicial power and democracy”, Singapore Academy of Law Journal,
12: 311-330.
MELLO, Celso, 2012, Notas sobre o Supremo Tribunal (Império e República). Brasília, Supremo Tribunal
Federal, recurso eletrônico disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
publicacaoPublicacaoInstitucionalCuriosidade/anexo/
Notas_informativas_sobre_o_STF_versao_de_2012.pdf (3.ª edição, última consulta em junho de
2019).
ONTO, Gustavo, 2015, “Mercado relevante: uma perspectiva etnográfica”, em E. C. Mendonça, F. L.
Gomes e R. P. A. Mendonça (orgs.), Compêndio de Direito da Concorrência: Temas de Fronteira.
Ribeirão Preto, Editora Migalhas, 119-144.
POTTAGE, Alain, 2004, “Introduction: the fabrication of persons and things”, em A. Pottage e
Martha Mundy, Law, Anthropology, and the Constitution of the Social: Making Persons and Things.
Cambridge, Cambridge University Press, 1-39.
POTTAGE, Alain, 2012, “The materiality of what?”, Journal of Law and Society, 39 (1): 167-183.
RILES, Annelise, 2003, “Law as object”, em S. E. Merry e D. Brenneis (orgs.), Law & Empire in the
Pacific: Fiji and Hawai’i. Santa Fe, NM, School of American Research Press, 187-212.
SAMUEL, Geoffrey, 2004, “Epistemology and comparative law: contributions from the sciences
and social sciences”, em M. V. Hoecke (org.), Epistemology and Methodology of Comparative Law.
Oxford, Hart Pub, 35-77.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
43
SOUZA, Larissa Maria Melo, 2012, A Fábrica de Argumentos: Uma Etnografia da Construção da
Iniquidade nos Casos da Anistia pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, Uniceub, dissertação de
mestrado.
STENGERS, Isabelle, 1996, Cosmopolitiques: Tome 1 – La Guerre des Sciences. Paris, La Découverte/Les
empêcheurs de tourner en rond.
STENGERS, Isabelle, 2005, “Notes on an ecology of practices”, Cultural Studies Review, 11 (1):
183-196.
STRATHERN, Marilyn, 1991, Partial Connections. Savage, MD, Rowman & Littlefield.
TATE, C. Neal, e Torbjorn VALLINDER, 1995, The Global Expansion of Judicial Power. Nova Iorque,
New York University Press.
WAGNER, Roy, 1981, The Invention of Culture. Chicago, The University of Chicago Press (ed. revista
e ampliada).
NOTAS
1. A regra brasileira é a mesma das nomeações para a Suprema Corte dos Estados Unidos, ainda
que existam diferenças fundamentais, em especial no requisito de aprovação pelos senadores.
2. Dos sete ministros que entrevistei durante o trabalho de campo, apenas três deles me
contaram todo o processo de indicação, ou seja, quem articulou a chegada de seu nome à
presidência da República, como foi a preparação para a sabatina no Senado Federal, etc. Mesmo
em entrevistas concedidas a jornalistas, o tema da indicação sempre aparece de modo implícito.
3. Entrevista realizada em junho de 2012 no STF.
4. Ver transcrição da sabatina realizada pelo ministro em 2013, disponível em http://
www.senado.leg.br/atividade/comissoes/sessao/disc/disc.asp?s=000387/13 (última consulta em
junho de 2019).
5. Entrevista realizada em 5 de junho de 2012 no STF.
6. Entrevista realizada em 5 de junho de 2012 no STF.
7. O Supremo Tribunal brasileiro é composto por duas turmas, formadas por cinco ministros cada
uma (o presidente do STF não participa). Nesses pequenos colegiados são julgados alguns
processos que chegam à suprema corte e que não demandam a declaração de
inconstitucionalidade de leis, o que compete somente ao plenário. Se julgam nessas turmas,
especialmente, pedidos de habeas corpus.
8. Pelo regimento interno do tribunal, cada gabinete tem um chefe, bacharel em direito, cinco
assessores também com formação em direito, dois assistentes judiciários com formação superior,
além do quadro de funcionários comissionados, dos quais no mínimo três devem ser funcionários
do tribunal. Além desses, existem funcionários terceirizados que realizam algumas tarefas sem
previsão regimental. É comum que ministros com carreira docente em universidades tragam para
formar o gabinete seus orientandos de pós-graduação. Existem também funcionários de
confiança herdados de ministros que se aposentam. No entanto, é prerrogativa de cada ministro
estruturar seu gabinete de acordo com seu próprio arranjo, apenas levando em consideração as
normas regimentais.
9. Riles parte da definição de Strathern, segundo a qual objetificação é “o modo pelo qual pessoas
e coisas se tornam objeto do olhar subjetivo ou de sua criação” (Strathern apud Riles 2003: 198).
10. Uma “ação direta de inconstitucionalidade” é um tipo de ação judicial que só pode ser
apresentado no Supremo Tribunal Federal, como instância última e única. Ela funciona
questionando diretamente um ato do poder público.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
44
11. Entrevista realizada em 25 de setembro de 2012 na PGR.
12. Uma ADPF, “arguição de descumprimento de preceito fundamental”, é um tipo de ação,
ajuizada exclusivamente no STF, que tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito
fundamental resultante de ato do poder público.
13. Decisões monocráticas são aquelas tomadas por apenas um ministro do tribunal; podem ser
decisões liminares ou mesmo decisões finais em processos entendidos como repetidos.
14. Entrevista realizada em maio de 2012.
15. Entrevista realizada em outubro de 2012 no escritório de advocacia do ministro.
RESUMOS
O objetivo do artigo é analisar as decisões e as relações no Supremo Tribunal Federal brasileiro a
partir dos conceitos locais de técnica, direito e política. Há no país uma ideia corrente de que a
interferência de interesses políticos externos ao tribunal seria perniciosa e que suas decisões
deveriam se pautar apenas pela técnica jurídica. O presente texto busca refletir sobre os modos
como se faz política no direito a partir da prática jurídica apreendida etnograficamente na
composição do tribunal, na gestão dos processos e nas relações entre os ministros e seus
gabinetes. As decisões, as relações e os processos são tomados como objetos que não só modulam
as direções da verdade como estabelecem as possibilidades de sua transformação.
The purpose of this article is to examine the decisions and relations in the Brazilian Federal
Supreme Court utilizing the local concepts of technique, law and politics. More than analyzing
the decisions of the Supreme Court taking as a starting point the possibility of interference of
political interests external to law, the goal of this article is to reflect on the ways that politics are
made in the realm of law on the basis of a concept of legal practice seized in the composition of
the court, the management of processes and the relationships between ministers and their
offices. In this sense, decisions, relationships and processes are taken as objects that modulate
the direction of truth and establish the possibilities of transformation.
ÍNDICE
Palavras-chave: antropologia do direito, política, prática, burocracia, supremas cortes
Keywords: anthropology of law, politics, practice, bureaucracy, Supreme Court
AUTOR
ANDRESSA LEWANDOWSKI
Unilab-CE, Brasil
andressapr@gmail.com
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
45
“Y nosotros, ¿qué ganamos?”:
identificaciones en el trabajo de
campo etnográfico con cuadrillas
juveniles en Costa Rica
“And what do we benefit?”: identifications in ethnographic fieldwork with youth
gangs in Costa Rica
Onésimo Rodríguez Aguilar
Introducción
1 Este texto relata algunas historias etnográficas vividas con jóvenes en cuadrillas de
Guararí de Heredia.1 Estas agrupaciones juveniles son social y mediáticamente
conocidas como pandillas, aunque sus manifestaciones son diferentes. 2
2 Se mostrará parte de la interacción que se mantuvo con personas pertenecientes a tres
agrupaciones cuadrilleras: Los de la Finca, Los del Cole y Los de Villa Linda. 3 Al respecto,
es importante mencionar que estas asociaciones juveniles toman el nombre de sus
respectivos sub-barrios (en Guararí existen varias ciudadelas, comunidades o sub-
barrios) para autonombrarse, lo cual no es un dato menor, pues habla de la estrecha
relación que existe entre estos grupos y su lugar de residencia.
3 El objetivo final de este recuento es evidenciar las diversas formas en que fui
identificado durante mi trabajo de campo y, además, explicar cómo hice para
permanecer haciendo etnografía con estos muchachos de orígenes, condiciones
socioeconómicas y códigos morales diferentes de los míos. Intento reflexionar, desde el
estatuto de extraño que varios de estos jóvenes me otorgaron pero que yo también
propicié, no solo pensando en el porqué de estas atribuciones, sino también en qué
tienen que ver con mi práctica antropológica y qué dicen sobre las propias existencias
de los sujetos. En fin, pretendo develar algunas posibles situaciones que pueden
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
46
acontecer durante la puesta en escena etnográfica, esto es, cuando intentamos
aprehender el sentido que los sujetos le dan a sus prácticas.
“Y nosotros, ¿qué ganamos?”
4 Muchas cosas pasaron durante mi estancia etnográfica en Guararí (diciembre de 2008 a
julio de 2009).4 En este escrito me interesa rescatar algunos fragmentos vivenciales de
cómo fui identificado y recibido durante dicha implementación.
5 El primer acercamiento que tuve con una cuadrilla se dio una tarde de lunes del mes de
diciembre de 2008. Aquella vez intenté conversar con un joven que llamaré Pérez; él
estaba apostado en una de las esquinas de Villa Linda con otros muchachos de la
agrupación.
6 Yo le había solicitado a don Elmer, vecino y líder de la lucha pro-vivienda del lugar (a
quien ya conocía de un proceso de investigación anterior), que me acompañara. Pensé
que su compañía resultaría ser bien vista por los jóvenes. Al final, esta estrategia fue un
desacierto metodológico.5 Los jóvenes no lo querían, porque varias veces se habían
suscitado tensiones y enfrentamientos entre ellos y el líder comunal. Evidentemente, yo
llegué a conocer estos hechos tiempo después.
7 Aquel lunes empecé a conversar con ellos, habiendo sido previamente presentado por
don Elmer. Les hablaba de mis intenciones en el lugar: hacer mi tesis sobre sus vidas,
refutar versiones mediáticas estigmatizantes, mostrar una cara distinta de ellos mismos
y de Guararí, etcétera.
8 Pérez se levantó de su lugar y me interrumpió: “¡Ahhhh!”, mientras me increpaba
sacando su pecho frente a mí en señal de confrontación. “¿Usted lo que quiere es
sacarnos información para su tesis y después irse, usarnos como conejillos de indias? Y
nosotros, ¿qué ganamos con eso que usted quiere hacer? Véanos”, mientras señalaba a
sus amigos, “somos unas ratas”.6
9 Yo no pude contestar nada. La demanda del muchacho me llamó tan poderosamente la
atención que no supe cómo reaccionar. Estaba realmente incómodo. Después de algunos
minutos atiné a despedirme y retirarme de la esquina con don Elmer. “Bueno maes, nos
estamos viendo”, dije, optimista. “Tuanis, rata”, respondieron algunos.
10 “Somos unas ratas”, en aquel contexto, significaba que no había nada que yo pudiera
decir sobre ellos más que eran malos, ellos no eran buenos, y al parecer, según Pérez,
no querían serlo. Quizás Pérez no estaba interesado en que yo dijera nada diferente a lo
que él ya sabía o creía que eran, ¿qué podría decir yo sobre ellos que ellos mismos
desconocieran? ¿Quién era yo para intentar decir algo “bueno” o “malo” sobre ellos?
11 Esta historia puede ser contrastada con otra ocurrida en la misma ciudadela, un par de
meses después, cuando fui invitado, por doña Ana, señora integrante de un grupo de
madres de la localidad, a una reunión comunal que se llevaría a cabo por aquellos días
en una de las viviendas informales.
12 Habiendo aceptado la invitación, llegué al lugar – el día en cuestión – a eso de las 7 de la
tarde. Fuí recibido de manera muy cordial por doña Ana. En el lugar estaban las señoras
integrantes del grupo de madres y sus hijos, jóvenes, varios de ellos, pertenecientes a la
cuadrilla de Villa Linda. Al menos tres de estos muchachos estuvieron presentes aquel
día en que Perez me increpó. Estaban sentados en una de las bancas, yo saludé y ellos
me saludaron. Había carne asada y algunos refrescos que yo podía consumir a cambio
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
47
de una módica suma. Lo recaudado, según me dijeron, iría en beneficio de la asociación
de madres.
13 Doña Ana, en algún momento de la noche, se me acercó y me dijo: “¿Les podría decir
algunas palabras a ellos?” Con la mirada, me señaló a los jóvenes que estaban sentados
en una de las bancas. Yo en realidad no entendía, por lo cual le pregunté a la señora:
“¿Qué les digo?” “No sé, hábleles de las drogas y el alcohol y todo eso, para que ellos
entiendan”.
14 Tras mi pánico escénico inicial pude decir algunas palabras para no contrariar la
voluntad de la señora. No me acuerdo qué exactamente les dije, pero me sentí
realmente incómodo, hablándole a un grupo de jóvenes sobre sus problemas de
adicción, como si yo fuera un personero del IAFA (Instituto sobre Alcoholismo y
Fármaco Dependencia). Al final les recomendé, a ellos y a sus madres, quienes estaban
muy concentradas escuchando lo que yo decía, llamar a esta institución o a alguna
agencia gubernamental para buscar ayuda.
15 Después de mi intervención, uno de los jóvenes se me acercó, él estaba realmente
intoxicado y no podía quedarse en pie. Con cara de sufrimiento, me dijo: “¡Ayúdeme,
mae, vea como estoy… Ayúdeme!” Yo, contrariado y angustiado, volví a repetirle el
consejo que había dado anteriormente, y le dije que si él quería le ayudaba a buscar los
contactos en las agencias del gobierno; en realidad le dije esto también a su mamá,
quién se me acercó luego para saber qué había conversado con el hijo. Al día siguiente
en la mañana, ella me llamó para coordinar cómo procederíamos.
16 Debido a mi incomodidad en ambas situaciones (con Pérez y en la reunión organizada
por el grupo de madres), y a lo que yo entendí como una confusión de los sujetos sobre
mi estatuto, decidí no continuar haciendo trabajo de campo con esta cuadrilla. No
quería ser identificado como extraño/enemigo o como asistencialista (en la parte final
de este documento, haré una síntesis analítica acerca de estas dos vivencias ocurridas
en el barrio; por lo pronto, describiré otra de las historias).
“Mae, ¿usted es de la ley?”
17 Para marzo de 2009, después de casi tres meses de estar interactuando con los
muchachos de La Finca, durante una de las noches en que me encontraba en el lugar,
Sofi (la única mujer cuadrillera de las agrupaciones con las cuales trabajé), me
comentaba que algunos de los miembros de la agrupación me tenían desconfianza
porque pensaban que yo era del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). 7 Después de
dicha confesión me sentí frustrado y ansioso, ¿cómo iba a ser posible que, después de
tres meses, existiesen dudas acerca de mi procedencia?
18 A pesar de mi frustración, me pude reponer. Dos noches después volví a La Finca. Me
encontré con un grupo nutrido de jóvenes, unos 25 muchachos ubicados en las afueras
del súper del “chino” (minisúper, tienda o comercial pequeño). Un muchacho a quién
llamaré Alfonso me saludó y al enterarse de que yo venía de Guararí, de “pasar el rato”
con otra cuadrilla, me dijo: “¡Pero usted tiene compas por todo lado! Mejor quédese
aquí con nosotros, la gente de Guararí nada que ver”.
19 La demanda del chico estaba cargada de empatía, lo que se había puesto en duda tan
sólo dos días atrás.8 Instantes después, cuando sentía un alivio interno en vista de las
palabras de Alfonso, otro joven, Ernesto, me interpela con un gesto de confrontación,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
48
aunque con un sutil tono de broma (de quien sabe que mi posición en la cuadrilla no le
afecta): “Mae, a mí no me importa que ande con quien quiera, sólo dígame una cosa,
¿usted es de la ley?” Ahí, delante de todos esos jóvenes dije: “¡No! Por mi padre que
tiene 10 años de muerto”.
20 Días después, al llegar a La Finca para continuar con mi trabajo en la zona, otro de los
jóvenes, Montiel, quien no había estado la noche en la que Ernesto cuestionaba mi
procedencia, me hizo la misma pregunta: “¿Usted es de la policía?” El tono de este
joven fue más relajado, como haciendo una pregunta sobre la cual ya conocía la
respuesta. Andrés y Mori, que sí habían estado presentes la noche en la que me defendí
con la mención de la muerte de mi padre, le dijeron: “No sea necio mae, ya el mae dijo
que nada que ver con esa vara, deje de joder”. “Bueno, bueno, está bien, tranquilos, solo
quería saber”, expresó Montiel, algo sorprendido por la reacción de sus amigos. Nunca
más, que yo me diera cuenta, se volvió a tocar el tema de mi procedencia.
21 Después de la defensa de Andrés y Mori delante de uno de los suyos, me sentí
reconfortado, aunque mi condición de extraño persistía. Esta situación se iba a
mantener con otros grupos de jóvenes de Guararí, como quedará manifiesto en la
siguiente anécdota.
Un “Herman demasiado honesto”
22 Algún tiempo después de estas experiencias, ya entrado el mes de junio de 2009,
sucedieron algunas situaciones interesantes en mi interacción con otra cuadrilla juvenil
de la zona. Tenía aproximadamente cuatro meses de estar compartiendo con la
cuadrilla de Los del Cole. Ellos frecuentaban todas las noches las afueras del colegio
nocturno de Guararí (secundaria). Pude contactar a este grupo gracias a Fabricio, uno
de los líderes de La Ultra Morada 9 y viejo amigo que conocí durante un trabajo de
campo previo que realicé con jóvenes de las barras organizadas de fútbol en Costa Rica.
23 Uno de los muchachos, a quien llamaré Tito, durante una de las noches en que llegué al
barrio, me recibió, en tono chistoso, con un saludo y un apodo: “¿Qué me dice,
Herman?”, en referencia al personaje de televisión protagonista de The Munster (serie
de mediados de 1960). Yo le respondí el saludo; inmediatamente le pregunté: “¿Por qué
Herman?” “Mae, es que usted tiene la cara cuadrada y es así, grande [en referencia a mi
estatura y contextura corporal]”.
24 En otra ocasión, otro de los muchachos de esa cuadrilla, de nombre Memo, me llamó
“Demasiado honesto”, haciendo alusión a un personaje de un programa de televisión
nacional que se caracteriza por ser, precisamente muy honesto. Este apodo me lo
adjudicó este joven después de un viaje que hice con ellos al Pacífico Sur de Costa Rica.
Recuerdo que cuando llegué a la casa de uno de los muchachos a ultimar detalles para
irnos para la playa (el viaje referido), en la mesa había una cantidad considerable de
marihuana ordenada en cigarrillos. Yo pregunté: “¿Por qué tanta mecha, maes?” La
respuesta de Tito: “Diay compa, para vender y así”.
25 Íbamos en el carro de mi hermana, se lo pedí prestado para la ocasión. Dos de los
muchachos eran menores de edad. Me dije a mí mismo: “Si nos llegara a pescar
[detener] la policía, me acusarían de corrupción de menores y, además, de tráfico de
drogas, ¡mínimo 20 años de cárcel por hacer etnografía!” Sentí ganas de irme del lugar,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
49
marcharme sin decir nada; claro, esta acción hubiese significado el fin de mi trabajo de
campo con estos jóvenes. Decidí continuar mi trayecto con los muchachos.
26 Horas después, habiendo superado el impacto que me causó aquella situación
angustiosa, encontrados en la playa, los muchachos deciden ir al supermercado de la
localidad. La intención, de la cual no me di cuenta hasta que estábamos en el
establecimiento, era sustraer algunos objetos (cremas, bronceadores y bloqueadores)
para después venderlos (yo, incluso, les compré algunos de esos productos).
27 Ocultaban lo sustraído entre sus genitales y sus ropas para poder sacarlos del
comercial. El primer día los acompañé, pero me puse tan nervioso que por un momento
pensé en que mi ansiedad los iba a delatar. Decidí quedarme un poco alejado de ellos,
como defensa, pero, ante todo, por miedo. Para las subsiguientes experiencias en el
“súper”, Fabricio me recomendó que me quedara en el carro esperándolos, me dijo:
“Mae, mejor quédese en el carro, nosotros entramos y salimos rápido”.
28 Mis reacciones, ante dinámicas naturalizadas por el habitus cuadrillero, hicieron posible
la designación de “Demasiado honesto”; claro, eran dos moralidades naturalizadas, dos
formas de entender dichas prácticas que chocaban y se tensionaban.
29 La forma brillante, dispuesta por Fabricio, de solucionar la disputa moral fue alejarme
de lo que para mí significaba un terreno de ansiedad; él, en aquel momento, entendió,
mucho mejor que yo, los sentidos que cada uno de nosotros dábamos a las situaciones
referidas.
Para concluir: “Y nosotros, ¿qué ganamos con el
policía, ‘Herman’ y ‘demasiado honesto’ ”?
30 Intentaré detenerme analíticamente en estas historias. Empezaré por la última. Los
apodos “Herman” y “Demasiado honesto” llaman la atención sobre la condición de
extraño que tuve en las cuadrillas. Ellos me recibían, viajábamos a distintos lugares,
bromeaban conmigo, incluso disentíamos en algunas conversaciones, pero los
sobrenombres que me pusieron muestran que yo era, de alguna forma, un individuo
lejano a sus especificidades cotidianas y que por más que quisiera no iba a introyectar o
corporizar ciertos códigos morales que para ellos eran básicos, naturales.
31 Hermitte nos dice:
“En esa etapa inicial la presencia del antropólogo en la comunidad se caracteriza
por una gran visibilidad. No es un miembro de ella sino un forastero que, no
obstante, se acerca a la gente, conversa, pregunta, y trata de participar en los
eventos comunales, sean éstos de carácter cotidiano o esporádico. Quién es y qué
hace allí son dos interrogantes que se plantean los naturales del lugar y que el
trabajador de campo debe responder” (2002: 217-218).
32 Estoy de acuerdo con Hermitte (2002) en el estatuto de forastero del etnógrafo y sus
implicancias; máxime cuando, retomando a Nash (1963), esgrime “el antropólogo en su
trabajo de campo es un extraño que debe enfrentarse al problema de adaptarse a ese
rol” y que este extrañamiento “prevalecerá hasta que adquiera las cualidades
necesarias del grupo, es decir un marco de referencia aceptable y un número de formas
de conducta que le permitan ser un miembro regular y bien conceptuado hasta que deje
la comunidad” (Hermitte 2002: 231).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
50
33 Yo fui aceptado por estos jóvenes, pero nunca me sentí totalmente incluido. Como dice
Hermitte (2002), me adapté al rol de extraño y pude comprender algunas cualidades del
grupo que me permitieron permanecer en él.
34 Ahora, pienso que esta permanencia dentro del grupo se debió a un estatuto particular:
fui un “extraño habitual”. A diferencia de Hermitte, creo que no solo se trata de
comprender las cualidades del grupo para ser “bien conceptuado”, es también
necesario que el grupo comprenda las cualidades de uno (como bien lo hicieron los
jóvenes con los apodos referidos), para así, a pesar de las tensiones morales que puedan
emerger, ocupar un lugar en el espacio de sus vivencias colectivas. Intento decir, con
Guber (2008, 2014), que la reflexividad es invariablemente mutua: tanto nosotros como
ellos nos incorporamos a dinámicas de reflexión, nos ubicamos en ciertos lugares y
decidimos si queremos continuar o no, habiendo meditado y valorado múltiples
situaciones. Integramos, al fin, una trama compleja, que es posible solamente gracias a
la (des)unión de esas subjetividades, en ocasiones, disímiles.
35 Con la cuadrilla de Villa Linda no hubo permanencia etnográfica. Abandoné la
interacción después de lo acontecido con Pérez y la reunión organizada por las madres
de estos muchachos. En aquella ocasión, hui de ellos. Pero esta vez quisiera quedarme y
repensar aquella frase: “Usted hace su tesis y nosotros ¿qué ganamos? Véanos, somos
unas ratas”.
36 La petitoria de Pérez, al parecer material, no solo era una demanda. Como decía más
arriba, me increpaba por pensar en la posibilidad de poder decir algo “bueno” de ellos,
siendo que, según él, querían mantener el estatuto de “ratas”, de malos, pues es la
forma que han ideado para sobrevivir en un contexto desigual y con muchísimas
carencias. Para él, yo en mi estatuto de forastero no podía comprender la situación en
la que se encontraban. Hay que recordar que fue la primera vez que intenté acercarme
a esta cuadrilla y además lo hice acompañado de un líder que ellos no querían.
37 Entre tanto, el “¡ayúdeme, mae!” del joven alcohólico era una demanda distinta de la de
Pérez: ahí sí, para él, yo podía comprender su situación. Recuérdese que a aquella
actividad fui invitado por una de las madres (incluso fui recibido por ella); en
consecuencia, mi condición en el lugar cambiaba. De nuevo: un “extraño habitual”.
38 El punto es que, en ambas situaciones, durante mi trabajo de campo, yo me sentí
similar: incómodo y fuera de lugar, porque no podían verme en mi calidad de
investigador (¡¿qué es ser investigador para ellos?!). No pude disociar una situación de
la otra.
39 Hoy pienso que no tenía mucha trascendencia la forma en que inicialmente me
identificaran (como tiempo después no me importó significativamente que Los del Cole
me dijeran “Herman” o “Muy Honesto”, o bien, que pudiera seguir con Los de la Finca a
pesar de su desconfianza en torno a mi procedencia). Me iban a identificar con
cualquier cosa o personaje que fuera familiar para ellos, menos como antropólogo,
oficio disciplinar que desconocen (y que no tienen por qué conocer).
40 El asunto es que, con el mismo grupo con el que semanas antes había ocurrido el evento
de la demanda “¿Usted hace su tesis y nosotros qué ganamos?”, se abrió un vínculo que
yo decidí obviar; quizás porque, como dice Markowitz (2003), citado en Guber, Milstein
y Schiavoni (2014: 53), “lo que los antropólogos desean en el trabajo de campo es
intimidad, pero es también lo que más temen”.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
51
41 Ahora bien, más allá de lo anterior, las palabras de Pérez también cuestionan lo que en
nuestro papel de etnógrafos estamos en posibilidades de ofrecer.
42 Para Geertz, “lo único que uno tiene que dar realmente para evitar la mendicidad (o –
para no pasar por alto el método de las chucherías y los abalorios – el soborno) es así
mismo” es decir, “convertirse en alguien apreciable para nuestros informantes – esto
es, un amigo – para mantener el propio respeto” (1996: 53). Geertz no era ingenuo al
respecto; sabía que existía una “asimetría moral inherente a la situación del trabajo de
campo” y, por ende, “un conjunto de ficciones parciales reconocidas solo a medias”, de
forma tal que, en dichas circunstancias, “la relación progresa suficientemente bien”;
así, el antropólogo “se mantiene por el valor científico de los datos” (1996: 54), mientras
que, en el informante,
“el interés se mantiene vivo gracias a toda una serie de conquistas secundarias; la
sensación de ser un colaborador esencial en una empresa importante, aunque
apenas comprendida; el orgullo de su propia cultura y de su conocimiento experto
de la misma; la oportunidad de expresar ideas y opiniones personales (y de contar
chismes) a un oyente neutral y externo; así como, de nuevo, una cierta cantidad de
beneficios materiales directos e indirectos de uno u otro tipo” (Geertz 1996: 54).
43 Pareciera estar clara la razón fundamental por la cual uno decide permanecer. Pero, en
fórmula algo distinta a la autoridad, unilateralidad y prepotencia geertziana, es preciso
señalar con Guber, Milstein y Schiavoni que, en esta relación con los sujetos, “siempre
habría algo a cambio, aunque fuera un rato de conversación en los causes del afecto y
del respeto” (2014: 55), lo cual supone cierta bilateralidad en la conversación, ausente
en el autor del “juego profundo”.
44 Nuestra permanencia en campo exige un esfuerzo por tomar algunas pequeñas
decisiones que podrían ser de gran significación, como lo apuntaba algunos párrafos
arriba. Y no es que estos esfuerzos y estas decisiones estén planeadas o estén
consideradas dentro del marco lógico de una propuesta etnográfica. Lo que sucede es
una serie de situaciones espontáneas, sobre las cuales vale más implementar el sentido
común que alguna “gran estrategia” incluida en los manuales de cómo hacer “buena
etnografía” – me sucedió cuando mencioné la figura de mi padre fallecido para dar
credibilidad a mi estatuto de investigador/antropólogo y poder demostrar que no era
policía, como lo suponía Ernesto –.
45 Berreman (1962), en su estudio clásico sobre los Sirkanda del Bajo Himalaya al norte de
India, detalla cómo fue el trabajo de campo en dicha sociedad donde se solía ignorar a
los forasteros. Una de las razones para que los lugareños se comportasen así es que su
única relación con personas foráneas estaba limitada, al igual que muchos de los
jóvenes en cuadrillas de Guararí, al contacto con policías y agentes impositivos; en
consecuencia, cualquier extranjero podía ser “agente del gobierno” y “como tal,
potencialmente problemático, e incluso peligroso” (1962: 5). Los nativos ocultaban una
serie de prácticas extranormativas que no querían que fueran develadas, de ahí su
miedo particular a los “extraños” (situación similar me sucedió con las cuadrillas).
Como era de esperar, el etnógrafo Berreman y sus colaboradores fueron sospechosos de
tener segundas intenciones mientras se desarrollaba el trabajo de campo. Aun así, a los
pocos meses, según el relato del autor, pudieron, él y su equipo, trascender esa imagen
de extraños y entablar comunicaciones con los lugareños, eso sí, sin que mediara, como
en otros textos etnográficos, leyendas extraordinarias de rapport (Geertz 1989).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
52
46 Esto llama poderosamente la atención, pues, tal como con las vivencias con jóvenes que
he descrito, fue el proceso cotidiano de convivio el que hizo posible la compenetración
con algunos de ellos y que paulatinamente fue exorcizando la imagen que yo les
proyectaba (policía, enemigo).
47 Para Berreman (1962), la permanencia es un asunto de disposición; yo agregaría que
también tiene que ver con la disposición de ellos y ellas (los y las nativos/as); como
mencioné antes, resulta de un esfuerzo mutuo por comprender los estatutos que rigen
la lógica moral y cultural de ambas subjetividades. En nuestro caso, como etnógrafos,
no para ser como ellos, sino para intentar no transgredir de entrada esos valores que
suelen ser importantísimos y, claro, para no asumir ciertas interpretaciones erradas,
como me sucedió el día de la “reunión de las madres”. En el caso de ellos, para poder
hacerse una idea de ese extraño que aborda sus cotidianidades y definir si pueden, de
alguna u otra forma, confiar en él.
48 Entonces, es sumamente sugerente que, durante mi proceso de trabajo de campo, estos
jóvenes me hicieran preguntas directas acerca de si yo era policía o no, que me
confrontaran haciéndome ver que yo no iba a decirles nada nuevo sobre ellos mismos
pues eran y seguirían siendo “ratas”, incluso que me pusieran sobrenombres. Ellos,
según creo, me ponían a prueba y lo hacían porque finalmente estaban en una posición
que les permitía ubicarme en ese tipo de situaciones.
49 Ellos querían saber con certeza quien era yo y yo, por mi parte, estaba muy interesado
en demostrar que era quien decía que era; en ese juego de comprobaciones de
autenticidades, las ansiedades de unos y otros, incluyéndome, emergen, pero emergen
porque así son las relaciones sociales: una vorágine, a veces inusitada, de situaciones
que suceden debido a la propia indecifrabilidad total de las interacciones humanas.
Receção da versão original / Original version
2018 / 01 / 16
Aceitação / Accepted 2018 / 07 / 03
BIBLIOGRAFÍA
ABARCA, Humberto, y Mauricio SEPÚLVEDA, 2005, “Barras bravas, pasión guerrera: territorio,
masculinidad y violencia en el fútbol chileno”, en Francisco Ferrándiz y Carles Feixa (comps.),
Jóvenes Sin Tregua: Cultura y Políticas de la Violencia. Barcelona, Anthropos, 145-169.
BARQUERO, Karla, 2018, “Costa Rica, líder en democracia de Centroamérica”, en LaRepública.net,
12 de febrero, disponible en https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-lider-en-
democracia-de-centroamerica (última consulta en junio de 2019).
BERREMAN, Gerald D., 1962, Behind Many Masks: Ethnography and Impression Management in a
Himalayan Village. Ithaca, NY, The Society for Applied Anthropology.
CHINCHILLA, Sofía, 2017, “El tico 5 millones nacerá en marzo de 2018”, La Nación, 2 de abril,
disponible en https://www.nacion.com/el-pais/el-tico-5-millones-nacera-en-marzo-del-2018/
IVURKMXZEZAITGSWETA2G37SSM/story/ (última consulta en junio de 2019).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
53
FALLAS, Gustavo, 2017, “Costa Rica camina hacia tasa más elevada de asesinatos”, La Nación, 30 de
junio, disponible en https://www.nacion.com/sucesos/crimenes/costa-rica-camina-hacia-tasa-
mas-elevada-de-asesinatos/AA2VTK3WNJFDRM67GCT3NV33SA/story/ (última consulta en junio
de 2019).
GEERTZ, Clifford, 1989, La Interpretación de las Culturas. Barcelona, Gedisa.
GEERTZ, Clifford, 1996, Los Usos de la Diversidad. Barcelona, Paidós.
GUBER, Rosana, 2008, El Salvaje Metropolitano: Reconstrucción del Conocimiento Social en el Trabajo de
Campo. Buenos Aires, Paidós.
GUBER, Rosana, 2014, “Introducción”, en R. Guber (comp.), Prácticas Etnográficas: Ejercicios de
Reflexividad de Antropólogas de Campo. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 13-40.
GUBER, Rosana, Diana MILSTEIN, y Lidia SCHIAVONI, 2014, “La reflexividad o el análisis de datos:
tres antropólogas de campo”, en R. Guber (comp.), Prácticas Etnográficas: Ejercicios de Reflexividad de
Antropólogas de Campo. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 41-63.
HERMITTE, Esther, 2002, “La observación por medio de la participación”, en S. E. Visakovski y
Rosana Guber (comps.), Historia y Estilos del Trabajo de Campo en Argentina. Buenos Aires,
Antropofagia, 212-234.
JIMÉNEZ, Alexander, 2002, El Imposible País de los Filósofos. San José, Editorial de la Universidad de
Costa Rica.
LEITÓN, Patricia, 2017, “Pobreza total de Costa Rica se mantiene y la extrema se reduce”,
La Nación, 26 de octubre, disponible en https://www.nacion.com/economia/indicadores/
pobreza-total-de-costa-rica-se-mantiene-y-la-extrema-se-reduce/
I6NGELVA6VEIDDY63OCQQVIEYM/story/ (última consulta en junio de 2019).
MARKOWITZ, Fernando, 2003, “Sexualizando al antropólogo: implicaciones para la etnografía”,
en J. A. Nieto (comp.), Antropología de la Sexualidad y la Diversidad Cultural. Madrid, Talasa, 79-92.
MOLINA, Iván, 2003, Costarricense por Dicha: Identidad Nacional y Cambio Cultural en Costa Rica
durante los Siglos XIX y XX. San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica.
NASH, Dennison, 1963, “The ethnographer as stranger”, South Western Journal of Anthropology,
19 (2): 149-167.
RODRÍGUEZ AGUILAR, Onésimo Gerardo, 2013, Una Tejita Rata pa’ Evolucionar: Cuadrillas Juveniles y
Barrio en Guararí de Heredia. Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana de México,
tesis doctoral en Ciencias Antropológicas.
RODRÍGUEZ AGUILAR, Onésimo Gerardo, 2017, Aquí Está Todo: Ratas, Evolución y Honor. Cuadrillas
Juveniles y Barrio en Costa Rica. San José, Editorial Arlekín.
SANDOVAL, Carlos, 2006, Otros Amenazantes: Los Nicaragüenses y la Formación de Identidades
Nacionales en Costa Rica. San José, Editorial Universidad de Costa Rica.
SOLANO, Johel, 2017, “Ola de homicidios: ‘hay un desprecio total por la vida’”, crhoy.com, 15 de
diciembre, disponible en https://www.crhoy.com/nacionales/ola-de-homicidios-hay-un-
desprecio-total-por-la-vida/ (última consulta en junio de 2019).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
54
NOTAS
1. La investigación etnográfica fue realizada en el marco de la tesis doctoral del autor (Rodríguez
Aguilar 2013) y una versión preliminar de este texto fue presentada en las VIII Jornadas de
Etnografía y Métodos Cualitativos (celebradas del 10 al 12 de agosto de 2016), organizadas por el
Centro de Antropología Social (CAS) del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos
Aires, Argentina. A manera de contexto, es importante ofrecer algunos datos generales sobre
Costa Rica. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Costa Rica
alcanzaría los 5.000.000 de habitantes en marzo de 2018 (Chinchilla 2017). Un 20% de la población
vive en condiciones de pobreza, mientras que un 5,7% lo hace en pobreza extrema (Leitón 2017).
La violencia social en el país ha sido un problema que ha ido en paulatino incremento; por
ejemplo, para el 2017 se registraron más de 600 homicidios, una tasa de 12 por cada 100.000
habitantes; después de 10 se cataloga como epidemia, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). La gran mayoría de estos asesinatos (70%) se deben, según el Ministerio de Seguridad, a
situaciones relacionadas con el narcotráfico/narcomenudeo (Solano 2017; Fallas 2017). En
relación a la democracia, según una medición hecha por The Economist Intelligence Unit, Costa
Rica se ubica como la segunda nación de América Latina en el “índice de democracia 2017”. A
pesar de estar entre los primeros puestos, “el país fue catalogado como democracia con
defectos”, puesto que “no alcanzó un puntaje superior a 8”. De hecho, en Latinoamérica, “solo
Uruguay fue nombrada como una democracia completa” (Barquero 2018). Estos breves datos
contradicen la idea mítica con la que se ha construido Costa Rica: país de paz y pacifista y con una
democracia infranqueable. Algunos investigadores han puesto entre dicho este imaginario
nacional que ha trascendido fronteras; al respecto, ver Jiménez (2002), Molina (2003) y Sandoval
(2006).
2. En otra parte (Rodríguez Aguilar 2013, 2017), antepongo la idea de “cuadrilla” a la de
“pandilla” para referirme a jóvenes que integran agrupaciones informales en barrios urbano-
populares cuya ética dista de las dinámicas pandilleras, fundamentalmente en lo referido a la
organización y al uso de la violencia (los medios de comunicación y ciertos sectores de la opinión
pública han querido asimilar las cuadrillas con las “maras” del norte centroamericano). Además,
“cuadrilla” es un término empleado por los propios jóvenes (categoría “nativa”), el cual está
distante de las consideraciones estigmatizadas que recaen sobre la categoría “pandilla”.
3. Todos los nombres aparecidos en este texto han sido modificados.
4. Guararí es un barrio popular, creado a mediados de 1980. Antes de este tiempo era una finca
cafetalera, la cual, gracias a una ocupación de personas provenientes de sectores urbanos y
rurales del país, empezó a ser habitada. Paulatinamente, se fueron construyendo diversos
proyectos de vivienda (auspiciados por el Estado costarricense), gracias al esfuerzo y lucha de los
y las residentes de la ciudadela. Varios de los sectores del barrio están constituidos por viviendas
informales (llamados “tugurios” en Costa Rica): casas de latas (zinc) y restos de madera, en muy
malas condiciones. Villa Paola, para el tiempo de la implementación etnográfica, era una zona de
viviendas informales. Para finales del 2009, un proyecto de vivienda dotó de “casa digna” a las
personas que ahí vivían (Rodríguez Aguilar 2017).
5. Rosana Guber, acerca de estos desaciertos, plantea: “suele creerse que los hechos disruptivos
obedecen a errores o a ‘metidas de pata’. De las contribuciones que leemos aquí debiera quedar
claro que errores y aciertos permean la totalidad de situaciones por las que transcurre nuestra
persona de investigadoras. Pero más allá de cierta sospecha bastante general, no existe ningún
código prescripto donde conste qué es error y qué es acierto en esa situación puntual, hasta la
hora de cometerlo. El buen trabajo de campo, por lo complejo, cabal y auténtico, se desarrolla en
base a la práctica, a la ignorancia informada y sensible, y a la imperiosa toma de decisiones
pequeñas, de poca vistosidad académica y de gran significación humana” (2014: 32). Cometí
muchos errores, queriendo o sin querer, de pequeña y gran envergadura, pero las posibilidades
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
55
analíticas y de comprensión de esos mundos a partir de esos desaciertos fueron significativas,
tanto que me abrieron ventanas reflexivas que posibilitaron otras formas de entrada y
permanencia en el campo.
6. “Ratas” responde a un término muy usual en las cuadrillas, el cual refiere a la “ley del más
malo” (Abarca y Sepúlveda 2005), es decir, mientras más malo se es, más respecto y honor se
posee. Es una especie de inversión ideológica de la maldad. Además, las ratas (roedores)
sobreviven. Muchos de estos jóvenes intentan sobrevivir todos los días a diferentes y profundas
contradicciones.
7. Tiempo después uno de los muchachos me comentó que un amigo de la cuadrilla se encontraba
preso por venta de drogas; al parecer, un infiltrado del OIJ lo delató.
8. Cuando se sospechó de mi procedencia, este muchacho no estaba presente hacia dos noches.
9. Barra organizada/hinchada/torcida, que apoya al Deportivo Saprissa, S. A. Club de Primera
División del fútbol de Costa Rica.
RESÚMENES
El artículo se desprende de una investigación etnográfica realizada con integrantes de cuadrillas
entre 2008 y 2009 en Guararí de Heredia: barrio urbano popular del Valle Central de Costa Rica
(América Central). Algunas anécdotas etnográficas, vividas con estos jóvenes, me servirán para
plantear una discusión en torno a la forma en que estos sujetos me identificaron durante mi
trabajo de campo: siempre fui un extraño para ellos, papel que no imposibilitó la interacción
etnográfica; es decir, decidí permanecer haciendo trabajo de campo con ellos, a pesar de dicha
extrañeza.
The article is based on an ethnographic research conducted with cuadrilla (gang) members
between 2008 and 2009 in Guararí de Heredia, an urban and popular neighborhood in the Central
Valley of Costa Rica (Central America). Two ethnographic anecdotes lived with these young
people will serve to raise a discussion about the way these subjects identified me during my
fieldwork: I was always an outsider to them, a role that did not preclude ethnographic
interaction; that is to say, I decided to keep doing fieldwork with them, despite this strangeness.
ÍNDICE
Palabras claves: identificaciones, etnografía, cuadrillas, Guararí de Heredia, jóvenes,
permanencia
Keywords: identifications, ethnography, gangs, Guararí de Heredia, young people, permanence
AUTOR
ONÉSIMO RODRÍGUEZ AGUILAR
Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
onesimo.rodriguez@ucr.ac.cr
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
56
Metáforas térmicas: turistas
europeus no Nordeste brasileiro
narrando a intimidade
Thermic metaphors: European tourists in Northeastern Brazil narrating
intimacy
Octávio Sacramento
Introdução
1 As mobilidades turísticas entre a Europa e o Brasil, à semelhança de muitos outros
fluxos atlânticos, proporcionam encontros e aproximações passionais que transpõem
fronteiras político-administrativas e fronteiras identitárias. No âmbito do meu
doutoramento em antropologia (Sacramento 2014), tomei como objeto de estudo estes
relacionamentos íntimos transfronteiriços e os trânsitos turísticos e migratórios a eles
associados.1 Nesse sentido, desenvolvi uma abordagem etnográfica das configurações de
intimidade heterossexuais adultas (v.g. eróticossexuais, afetivas, românticas e
conjugais) entre homens europeus e mulheres brasileiras que se conheceram durante a
estadia turística dos primeiros no bairro de Ponta Negra, proeminente destino balnear
de massas na cidade de Natal-RN, no Nordeste do Brasil. Com base nesta pesquisa de
terreno, proponho-me debater aqui as representações, expectativas e experiências dos
turistas europeus (gringos) envolvidos em relacionamentos transatlânticos,
considerando, simultaneamente, alguns dos quadros de normas e valores que regulam
as suas manifestações de masculinidade e a organização da sua vida íntima.
2 Tendo em conta que os vínculos e as vivências passionais constituem espaços sociais
tendencialmente reservados e de difícil acesso ao antropólogo – muito em especial “a
vida doméstica privada” (Almeida 2004: 176) –, a análise recai sobretudo nas narrativas
de intimidade dos europeus que se deslocam a Ponta Negra para uma estadia turística,
embora sempre muito apoiada nos elementos empíricos de natureza mais contextual
proporcionados pelo trabalho de campo etnográfico. Na discursividade dos informantes
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
57
presto especial atenção aos elementos idiomáticos figurativos através dos quais operam
metáforas térmicas de perfil binário, polarizadas qualitativamente em torno do
“quente” e do “frio”, numa relação antitética em que o primeiro tende a ser
categorizado como polo positivo e o segundo como polo negativo. Com uma genealogia
indissociável das construções identitárias coloniais e pós-coloniais, estas metáforas
funcionam como referenciais simbólicos matriciais na projeção de sentidos
socioeróticos diferenciados para os dois lados do Atlântico e na tradução das
subjetividades, expressões identitárias e experiências de intimidade masculinas nos
trópicos por contraponto à Europa da vida de todos os dias. No contexto turístico
cubano, Simoni debate esta “oposição relacional” a partir do que designa por
estereótipo “caliente”, o qual “[…] helps explain the overarching characterization of
Cuban people as ‘hot’, or at least ‘hotter’ than the foreigners visiting the tropical
island” (Simoni 2013: 185).
3 A abordagem que procuro desenvolver, sendo eminentemente antropológica, não se
circunscreve aos elementos metafóricos como meras unidades de retórica, mas como
recursos culturais, tendo presente que “people live by their metaphors, that they think
through them and act on them” (Kimmel 2004: 275). Ortega y Gasset referia mesmo que
“la metáfora es probablemente la potencia más fértil que el hombre posee. Su eficiencia
llega a tocar los confines de la taumaturgia y parece un trebejo [utensílio] de creación
que Dios dejó olvidado dentro de una de sus criaturas al tiempo de formarla” (2005
[1917-1925]: 865). Enquanto dispositivos de grande densidade semântica, presentes em
estilos de vida, práticas, perceções, pensamentos e identidades de múltiplos contextos
sociais da vida quotidiana (Fernandez 1991; Fischer 2012; Lakoff e Johnson 2003 [1980];
Sunderland e Denny 2016; Turner 1974), as metáforas indexam formas de fazer e estar
no “mundo” de que fala Pina-Cabral (2017). Afiguram-se, por isso, como portas de
entrada para a exploração etnográfica desse “mundo”, do modo como os sujeitos nele
se dispõem, o apreendem e constituem. No caso aqui em discussão, as metáforas
térmicas evidenciam singular abrangência e (omni)potência simbólica, sendo usadas
pelos indivíduos com uma ampla flexibilidade significante e com uma grande economia
discursiva-reflexiva para traduzir diferentes aspetos, situações e manifestações sociais.
Comparo-as, por isso, a uma chave mestra que facilita o acesso do olhar antropológico
às noções que pautam, inscrevem sentido e fundam os desígnios de
“transnacionalização da intimidade” (King 2002) dos turistas europeus no espaço
atlântico.
Homens abaixo do equador procurando outros
cenários de intimidade
4 O turismo é um campo social configurado por “gendered mobilities” (Cresswell e Uteng
2008), no qual se destaca a presença de homens e a manifestação de processos de
afirmação de diferentes perfis de masculinidade (Thurnell-Read e Casey 2015). Os fluxos
turísticos do continente europeu para Ponta Negra, um pouco à semelhança do que já
foi constatado em contextos idênticos (Cabezas 2009; Gomes et al. 2010; Piscitelli 2004a;
Simoni 2015), são constituídos sobretudo por homens viajando em grupo. Com idades
que tendem a situar-se entre os 25 e os 45 anos, estes homens são provenientes, na sua
grande maioria, da região mediterrânica (mormente do Norte de Itália), estão solteiros
ou separados/divorciados, têm uma formação académica intermédia e integram os
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
58
grupos socioprofissionais dos empregados executantes (v. g. funcionários do comércio)
e dos operários (Sacramento 2014, 2018).2 No quadro da sua estadia turística são
bastante comuns as relações de intimidade com parceiras brasileiras, geralmente mais
jovens (20-30 anos, a maioria). Estas relações ocorrem com mulheres que prestam
serviços sexuais remunerados (“garotas de programa”), socialmente mais acessíveis
a priori, mas também com muitas outras que, embora não se assumindo ou sendo tidas
como tal, se guiam por um conglomerado mais ou menos idêntico de expectativas e de
estratégias, identificando o “gringo” europeu como o “homem certo” para a
concretização das suas pretensões materiais, românticas e familiares.
5 A mobilidade turística masculina com destino a Ponta Negra é, em larga medida,
indissociável das transformações estruturais na organização da vida íntima e da sua
emergência como espaço de reflexividade e individualização, delineado em progresso a
partir de referenciais internos (Giddens 2001 [1992]) nos quais convergem elementos de
diversos sistemas de significação. Num tempo marcado pela considerável capacidade
eletiva individual, desde logo nas questões passionais (Roca Girona 2007, 2011), são
muitos os europeus que, insatisfeitos face às identidades e aos relacionamentos de
género nos seus países, cruzam o Atlântico movidos por representações (históricas) do
Brasil como destino que, entre outras coisas, lhes poderá proporcionar novas e
melhores experiências de intimidade.3 Através desta mobilidade, tentam encontrar na
alteridade aquilo que alegam não encontrar numa escala de proximidade e, desse modo,
concretizar no plano transnacional as elevadas expectativas que, atualmente,
acompanham as conceções mais comuns sobre o sexo, o romance e a conjugalidade
(Beck e Beck-Gernsheim 2004). Transpondo “fronteiras etnossexuais” (Nagel 2003),
forjadas no quadro dos impérios transatlânticos (Stolcke 2006), e carregando um denso
lastro históricocultural de representações sexualizadas e racializadas do Brasil,
sintetizadas na figura icónica da “mulata”, esperam descobrir abaixo do Equador outras
formas de feminilidade, que os próprios, consoante as circunstâncias e de modo algo
ambíguo, qualificam como “menos emancipadas”, “tradicionais”, “dedicadas ao
homem”, “naturais” e/ou “quentes”. Ao mesmo tempo, visam aceder a cenários de
convivência heterossexual mais condizentes com as suas subjetividades e ensaiar outras
experiências e sensações de masculinidade.
6 As interações íntimas de homens ocidentais com mulheres locais em contextos
turísticos do Sul global são, amiúde, rotuladas como turismo sexual. Entre muitos
outros enviesamentos analíticos que o “conceito” pressupõe, ele tende a uniformizar
manifestações empíricas heterogéneas e a sobrevalorizar elementos considerados mais
estritamente sexuais (Sacramento 2016a), como se fossem uma marca distintiva da sua
singularidade e estivessem, de todo, ausentes de outras modalidades turísticas. Com
isto não quero dizer que o sexo é secundário nestas manifestações. Somente procuro
ressalvar que se trata de uma dimensão também incontornável noutros “tipos” de
turismo – mesmo no turismo cultural que remonta ao grand tour (Littlewood 2001) 4 – e
que, como nos mostram os elementos etnográficos mais adiante, coexiste de modo
variável, circunstancial e até paradoxal, em permanente negociação, com outros
“idiomas relacionais” (Simoni 2015), como é o caso do amor romântico (Hoefinger 2013;
Kummels 2005; Piscitelli 2016). Esta coexistência pode, inclusivamente, verificar-se no
âmbito específico da mercantilização da sexualidade, esbatendo demarcações entre o
“programa”, o “ficar” ou o namoro. Mesmo aqui, sexo e emoção (e dinheiro) não são,
necessariamente, polos antinómicos (Williams 2013), ainda que, por vezes, como
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
59
veremos, os atores sociais assim os entendam. Importa ter sempre presente que “Sex +
tourism is not what it seems at face value, and the job of anthropology, as always, is to
delve deeply past the smoke and mirrors” (Frohlick 2010: 67).
7 Ainda que o sexo constitua uma dimensão proeminente nas expectativas da
generalidade dos europeus que afluem a Ponta Negra, é manifestamente simplista
assumir-se que a sua deslocação ao Brasil é movida apenas por desígnios
eróticossexuais. Ainda mais redutora se afigura a ideia de Brennan (2004: 314) para o
contexto dominicano, segundo a qual uma das demandas destes homens seria “[…] buy
sex for cheaper prices than in their home countries”. Se assim fosse, porquê atravessar
o Atlântico, quando nos seus países o mercado do sexo acolhe grandes fluxos
migratórios femininos provenientes da América do Sul, nomeadamente do Brasil
(Piscitelli 2009, 2011; Ribeiro et al. 2007), e lhes disponibiliza experiências de
sexualidade diversificadas e a preços não tão elevados como Brennan (2004) dá a
entender? Aliás, uma parte muito considerável dos turistas que conheci teve os
primeiros relacionamentos com mulheres brasileiras no âmbito da prostituição (na
Europa) e o principal foco de descontentamento face a elas não está relacionado com
preços, mas sim com o alegado carácter impessoal e “profissional” da relação: “Aqui
[Brasil], elas beijam na boca, envolvem-se e tiram prazer. Na Europa… e eu sei, porque
já tive relações com muitas prostitutas, é muito diferente. Elas abrem as pernas e só
estão a olhar para o relógio” [turista italiano, 30 anos]. Porém, segundo alguns turistas
que já frequentam o contexto desde finais da década de 1990, em Ponta Negra as
relações de intimidade têm vindo a tornar-se mais mercantilizadas e as “garotas de
programa” mais “profissionais”.
8 Mesmo com uma considerável e diversificada oferta de serviços sexuais nos seus países,
há qualquer coisa, para lá daquilo que consideram ser a esfera da sexualidade, a que
anseiam ter acesso durante a estadia turística. O que a etnografia em Ponta Negra
mostra é que, de um modo geral, os turistas europeus procuram configurações de
intimidade relativamente abrangentes, combinando numa geometria variável sexo,
romance e mesmo a possibilidade de delinear projetos conjugais (Sacramento 2016b).
Mais restringida ou menos restringida aos circuitos sociais dos “programas”, conforme
o conhecimento do contexto e a rede de contactos locais, esta procura é impulsionada
pelo desígnio, muitas vezes gorado, de alcançar interações passionais o mais próximas
possível daquilo que julgam ser a norma configuracional das relações íntimas; onde,
desde logo, não esteja presente o ato explícito do pagamento que tende a caracterizar a
prostituição, na expectativa de, assim, contactar de forma mais autêntica com a alegada
excecionalidade da mulher brasileira. A intimidade a troco de dinheiro apresenta-se-
lhes como um cenário indesejado, não tanto pelo dispêndio económico em si, mas pelo
facto de subverter a tal normatividade relacional que desejam garantir, podendo
mesmo constituir-se como sinal de incapacidade de sedução das mulheres ditas
“normais” e, nessa medida, representar um passivo de masculinidade. Ao mesmo
tempo, sujeita-os mais intensa e explicitamente às críticas morais que recaem sobre o
chamado turismo sexual (Simoni 2014). O dinheiro informa e qualifica as relações (e as
identidades dos seus protagonistas), como destaca Simoni (2016) para o cenário
turístico cubano.
9 Nos relacionamentos com mulheres que fazem dos “programas” a sua principal fonte
de rendimento, a evacuação da componente monetária torna-se difícil de conseguir,
mormente para os turistas mais idosos, com menos condições que os jovens para fazer
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
60
valer o seu capital estético. Contudo, na tentativa de preservar a honra viril, não são
muitos os que, abertamente, admitem pagar para usufruir de companhia feminina, pois,
à luz dos seus ideais de masculinidade, o ato de pagamento desvaloriza e, em certa
medida, estigmatiza a conquista sexual. O que admitem, sem qualquer complexo, são
gastos com as parceiras que se enquadram no que é mais comum acontecer nas relações
de género e estão claramente em linha com os valores masculinos hegemónicos do
homem-provedor. De modo a reforçar a normatividade do seu comportamento, por
vezes fazem questão de destacar que esses gastos resultariam maiores com as mulheres
dos seus países. O excerto de uma entrevista em grupo que se segue é elucidativo:
“E2 – Se uma rapariga me diz que é a pagar, já não vou com ela. Mas nem um
cêntimo, porque não me agrada pagar a uma mulher! Se está comigo, posso levá-la a
comer, a dançar, podemos divertir-nos e posso pagar tudo. Mas o gesto de dar-lhe
dinheiro para a levar para a cama, eu não o faço! É contra… eu não o faço. Não me
agrada. E, se calhar, durante um dia que ande comigo, gasto mais dinheiro que o
que gastaria para pagar o programa. Mas o gesto de dar o dinheiro, não… […]
E1 – Em Itália são mais prostitutas que aqui, porque, antes de levares uma mulher
para a cama, já a levaste para o restaurante, para aqui e para ali. Custa-te mais de
dois mil euros, em Itália! Apesar de ser uma mulher normal, é uma prostituta. Este é
um quadro da realidade.
E2 – O cortejamento italiano é caro. É caro!” [entrevista com dois turistas italianos:
E1, 28 anos, e E2, 30 anos]
10 Considerando o antagonismo que manifestam face à monetarização da intimidade,
compreende-se o porquê de preferirem espaços de lazer onde a mercantilização da
sexualidade é mais difusa e está mais esbatida, envolta num ambiente idêntico, à
primeira vista, ao dos comuns contextos de diversão noturna. Aqueles turistas que, em
consequência de repetidas estadias, vão aprofundando o conhecimento do lugar,
deixam de frequentar tão amiúde os espaços mais turistificados; até porque eles não se
veem simplesmente como turistas (e muito menos como “turistas sexuais”) e querem
um certo distanciamento face a circunstâncias que os sujeitam a esse rótulo. Ao mesmo
tempo, por iniciativa própria ou por intermédio de terceiras pessoas que vão
conhecendo, começam a participar em circuitos sociais mais amplos, fora do ambiente
turístico. Julgam que, assim, terão mais oportunidades para conhecer mulheres que
melhor se enquadram nas suas conceções da normalidade feminina e para construir
relações tidas como mais autênticas, baseadas numa maior proximidade afetiva, e
através das quais seja possível chegar a novas e mais intensas experiências de
intimidade.
11 Os trajetos de dois dos meus principais informantes – o Gentile (italiano, 48 anos) e o
Ambrosini (italiano, 43 anos), ambos com um histórico de mais de uma dezena de
prolongadas estadias turísticas na região natalense – são excelentes exemplos desta
progressiva ampliação e diversificação das ocasiões de transnacionalização de desejos e
afetos. Ao início, durante as primeiras estadias, as suas vivências passionais resumiam-
se, quase exclusivamente, ao contexto dos “programas”. Fruto de sucessivas
deslocações e da progressiva familiarização com as pessoas locais, foram-se integrando
em redes de sociabilidade mais amplas e, por essa via, muitas das suas relações íntimas
passaram a não estar circunscritas aos “programas”, deixando de comportar um perfil
comercial, ou, pelo menos, um tão explícito. Da última vez que estiveram no Brasil, a
maioria dos seus relacionamentos foram construídos através das respetivas redes
sociais, que a Internet tem ajudado a expandir. Para ambos, a grande vantagem das
relações íntimas não mercantilizadas advém do facto de lhes proporcionarem
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
61
experiências de intimidade mais abrangentes, “naturais” e “quentes”, no âmbito das
quais poderão construir vínculos amorosos mais consistentes. A este propósito, dizia-
me o Gentile:
“Uma coisa é amor, outra coisa é sexo. Estas mulheres que fazem programas são
para dar umas voltas no Brasil e não para casar com elas e levá-las para Itália. Eu até
posso sair com mulheres da praça (eu gosto de carne crua), mas é mesmo uma coisa
só para sexo e nada mais! Não é para namorar. Para isso encontro mulheres fora de
Ponta Negra. E com estas o sexo até costuma ser bem melhor, porque elas não estão
ali por obrigação”.
12 A intimidade baseada na “relação pura” (Giddens 2002) – isenta de interesses
económicos significativos ou de outros interesses externos à própria relação e
dependente das retribuições que, intrinsecamente, comporta – representa um ideal de
normalidade (Patico 2009) a que aspiram quase todos os turistas europeus em Ponta
Negra. Mesmo muitos daqueles que se relacionam com mulheres que fazem
“programas” são movidos por desejos de conexão física e emocional autêntica, de que
resulte uma “girlfriend experience” (Bernstein 2007), e não deixam de acreditar na
possibilidade de construção de relações puras. Ainda que não seja de todo irreal(izável),
esta crença tende a alimentar-se da “ilusão de ‘normalidade’ ” (Piscitelli 2004b)
proporcionada pelas parceiras como estratégia da sua própria atividade. Relativamente
cientes de que a maioria dos homens com quem convivem procura uma experiência
romântica que congregue sexo e afetos, elas tentam agir em conformidade com a
narrativa da história de amor e as noções da brasileira como “quente”, que integram as
metáforas térmicas mobilizadas pelos turistas (“essencialismo estratégico”, segundo
Simoni 2013: 187), infundindo a ideia de que foram, de facto, seduzidas e conquistadas.
Este simulacro de rendição passional, como notam Ribeiro e Sacramento, “deve ser
entendido no contexto de uma representação do relacionamento como estando dentro
da norma e do socialmente reconhecido como o namoro e o sexo monetariamente
desinteressados, partilhada por ambos, gringos e garotas” (2006: 168). Da “ilusão de
‘normalidade’ ” (Piscitelli 2004b) tendem a resultar alguns devaneios masculinos de
conquista, mais ou menos efémeros e contingenciais, e quase sempre permeados por
negociações e testes de realidade.5 O enraizamento destes devaneios é notório
sobretudo entre os visitantes menos familiarizados com Ponta Negra e com os seus
códigos relacionais. Os mais experientes conseguem vislumbrar melhor as subtis
demarcações entre diferentes configurações de intimidade.
Indexações térmicas transatlânticas
13 A normalidade passional que os turistas buscam em Ponta Negra está, de modo variável
e ambíguo, articulada com ideias da feminilidade (e da sexualidade) brasileira como
exótica, “aberta”, “quente” e genuína, ainda não adulterada pela emancipação que,
alegadamente, tem estado na origem do fechamento da mulher europeia, da sua frieza e
escassa disponibilidade para investir nas relações íntimas. O Brasil é por eles associado
a uma suposta genuinidade feminina que sentem estar a desaparecer na Europa e a
assumir traços identitários usualmente associados ao masculino. O que ouvi de um
português (70 anos), turista/residente em Ponta Negra, é elucidativo: “Ó pá, eu acho
que a mulher aqui é mais feminina… mais do que a portuguesa. A mulher portuguesa,
para mim, tornou-se machona, é mais possessiva. Eu noto isso! Gosta de controlar,
gosta de mandar. Mas acho que aqui são mais meigas, são mais meigas”. A noção de
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
62
autenticidade (Piscitelli 2004c) tende a remeter, deste modo, para a ideologia patriarcal
da mulher dócil, como se pode constatar, aliás, num outro testemunho: “Aqui [Brasil],
as raparigas são belíssimas, porque são pessoas humildes. Como carácter, aqui
agradam-me muito mais. As mulheres da América do Sul são mais humildes. Aqui, uma
bela rapariga, afetuosa, verdadeiramente…” [turista italiano, 28 anos].
14 A conceção da brasileira como mulher verdadeiramente feminina incorpora ainda
atributos etnossexuais que remetem para as supostas carga erótica “natural” e
disponibilidade para o sexo, associando-as à própria corporeidade. São bastante
frequentes, por exemplo, comentários do género: “para elas, o sexo é natural” ou “todo
o corpo delas é sexo”. A categoria “quente” é usada recorrentemente para qualificar a
sua sexualidade, constituindo, ao mesmo tempo, o polo comparativo com base no qual
as mulheres europeias são consideradas mais “frias”, mais conservadoras, menos
“naturais”, incapazes de criar um ambiente erótico tão intenso e de corresponder ao
desejo masculino de expansão de horizontes sexuais:
“Eu acho que em Portugal – ou eu estou desatualizado – não havia esta abertura que
há aqui. A mulher lá, quando um gajo começa a forçar, é mais retraída: ‘Eu não sou
dessas!’ Mas é… mas às vezes também é falso, porque elas são como as outras. Agora
as brasileiras dão mais abertura… a mulher portuguesa não. E depois… sexualmente,
enquanto que na Europa ainda há aquele conceito púdico e religioso papai e mamãe,
a mulher aqui não. A mulher aqui gosta de fantasias, tem… sexualmente tem uma
cultura indígena que os jesuítas não lhe conseguiram tirar. O sexo faz parte da
cultura dela” [turista/residente português, 70 anos].
15 A generalidade dos turistas identifica o papel ativo e descomplexado da mulher
brasileira na gestão das questões do corpo e da sexualidade como um fator decisivo
para a construção de cenários íntimos espontâneos e envolventes, isentos de muitos dos
fantasmas morais que ainda vislumbram na vida privada dos seus países. No Brasil
admitem, por isso, sentir-se particularmente “soltos” – isto é, menos constrangidos
pelos preceitos culturais da vergonha com o corpo e o sexo – para experimentar o
prazer em função das suas predisposições sexuais mais subjetivas, estabelecendo uma
relação mais distendida com a moralidade sexual e fazendo jus à antiga noção colonial
europeia de que “não existe pecado a sul do Equador” (Barléu 1940 [1647], citado em
Holanda 1990 [1936]: 212).6 A própria viagem, sobretudo quando implica uma
deslocação transnacional, cria, por si só, condições favoráveis a transformações de
subjetividade, suscitando no turista a sensação de que “he is freed from standards of
behavior imposed by respectable women back home” (Enloe 1989, citado em Chow-
White 2006: 895).
16 No longo relato que se segue, o Gentile descreve de forma bastante expressiva como
aquilo que considera ser a “naturalidade” e a participação empenhada da mulher
brasileira na relação com o parceiro são fundamentais para vivências amplas de
intimidade, sem grandes reservas e inibições, possibilitando uma maior harmonia na
equação masculina “sexo versus emoção”:
“A italiana abre as pernas e pouco mais. A brasileira participa, é muita mais ativa.
Antes eu até achava normal que uma mulher estivesse parada. Eu continuava e
pronto. Agora não. Agora, se uma mulher não participar, eu não continuo. Já me
habituei com a mulher brasileira! E ela não tem tabus. Pouco tempo depois de
conhecer a Cleuza [namorada], uma vez encontrei-a de pernas abertas, no sofá, a
depilar os pelos da vagina. Eu cheguei e fiquei um pouco envergonhado, mas ela
nada… continuou normalmente. A minha ex-companheira italiana, mesmo depois
de morar com ela vários anos, tinha de se fechar na casa de banho para fazer isso. É
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
63
desta naturalidade que eu gosto na mulher brasileira, de não ter tabus em relação
ao sexo, ao corpo… e ao corpo do homem que está com ela. Lembro-me que, uma
vez, num domingo, quando estava em casa da Cleuza no Brasil, ela começou a tirar
os pontos negros do meu corpo, a arrancar os pelos das minhas orelhas e do nariz
com uma pinça. Uma mulher italiana dificilmente faria isto, ainda por cima num
domingo. A minha ex-namorada não fazia. Ia passear o cão ou fazer outra coisa, mas
isso não. Outro exemplo. Da segunda vez que me encontrei com a Cleuza, depois de
me ir buscar ao aeroporto, para o carro, vai à farmácia e traz um saco. Eu pergunto-
lhe se está doente e ela, brincando, diz-me que aquilo é para um italiano que recebe
hoje em sua casa. Eu abro o saco e vejo um monte de camisinhas, de cremes e gel. E
ela sempre com naturalidade, sem vergonha. É deste à-vontade, desta naturalidade
que eu gosto na brasileira. Não há tabus. É tudo sem fazer problemas e mistérios”.
17 As valorações implícitas na avaliação masculina do modo como as mulheres dos dois
lados do Atlântico lidam com as questões da intimidade (sobretudo da sexualidade) –
positivas face às brasileiras e depreciativas em relação às europeias – são permeadas
por algumas ambivalências (Piscitelli 2004a) e podem, por vezes, sofrer alterações
significativas quando se considera o matrimónio. Recordo-me dos discursos de alguns
informantes a ressalvar que, embora sem os mesmos predicados sexuais que as
brasileiras e apesar das mudanças nas identidades e relações de género, ainda haveria
europeias “melhores para casar” e “mais adequadas para a vida de família”. Nas suas
próprias palavras, estas últimas seriam “mais trabalhadoras”, “mais responsáveis” e,
sexualmente, “mais fiéis”. Reproduz-se, assim, à escala transatlântica, uma visão
dicotómica da feminilidade – mulher alvo de desejo sexual versus mulher-esposa-mãe,
alvo de afeto (Silva 2003) – decorrente da proeminente ideologia masculina da
intimidade como esfera fragmentada entre sexo e emoção. Neste plano transnacional, o
antagonismo entre a mulher sexualmente desejável e a mulher virtuosa, ambicionada
para amar como esposa e mãe, tende a ser estruturado em função de traços
constitutivos da própria identidade nacional: a primeira é associada ao “calor” e à
exuberante sensualidade da brasilidade e a segunda à alegada maior “frieza” racional e
recato dos países europeus.
18 Porém, são muitos os turistas europeus, em particular aqueles cujos relacionamentos
extrapolam o âmbito dos “programas”, que organizam a sua vida passional com base
nesta mesma dicotomia sem a anexar, todavia, aos estereótipos veiculados pela
nacionalidade. Aliás, no seu entender, a multiplicidade de perfis femininos no Brasil e
as características singulares da feminilidade brasileira tornam relativamente fácil a
concretização de diferentes aspirações, desde as mais orientadas para a sexualidade
àqueloutras que (também) contemplam projetos de conjugalidade e família. Estas
mesmas aspirações nem sempre pressupõem diferentes mulheres e relações para se
materializarem. Como vimos atrás, no caso do Gentile, sexo e emoção podem coexistir
de forma mais ou menos equilibrada na mesma relação. Quando a coexistência é
inviável, alegadamente, as alternativas possíveis serão muitas, como se pode deduzir da
observação feita por um turista espanhol (43 anos): “No Brasil há mulheres para o sexo
e também boas mulheres para casar. Há mulheres muito diferentes… e há muitas!” 7
Esta ideia de variedade (simultaneamente física e social) na quantidade, impulsionada
pela conceção amplamente difundida da brasilidade como resultado de sucessivas
misturas raciais, constitui mais uma fonte da sua atração pelo Brasil, percebido como
“terra de mulheres para todos os gostos” [turista espanhol, 43 anos] e uma espécie de
caleidoscópio de possibilidades de intimidade em comparação com os países europeus.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
64
19 O fascínio pela diversidade de possíveis parceiras e cenários passionais é indissociável
do desejo de acesso ao exotismo feminino que as noções dominantes sobre a identidade
brasileira evocam. Este desejo não pressupõe, inevitavelmente, configurações
relacionais fundadas numa significativa alteridade física (Piscitelli 2004a). Quer isto
dizer que não podemos tomar como certa e inquestionável a atração masculina pelas
mulheres cujas diferenças face às europeias se inscrevem nos próprios corpos, sob a
forma de marcadores como a cor da pele. Para muitos homens, a dissemelhança
fenotípica não representa, necessariamente, uma condição fundamental de atração.
Aliás, quando os informantes me falavam dos traços físicos femininos que mais lhes
suscitam fascínio, bastantes faziam referência a características não muito divergentes
das que compõem o(s) fenótipo(s) predominante(s) nos seus países. Para exemplificar a
sua preferência, um italiano (48 anos) mostrou-me uma foto da atriz britânica Claire
Forlani, ilustrando, assim, o seu “tipo ideal de mulher”, e destacando ainda o facto de a
sua ex-mulher brasileira, que conheceu em Ponta Negra, também ser “completamente
diferente do estereótipo da brasileira” [“mulata”]. Não podemos esquecer, porém, que
estas idealizações tendem a refletir a dicotomia masculina da feminilidade. Podem, por
isso, assumir uma certa ambivalência, fazendo com que o perfil físico feminino objeto
de maior e descomplexado desejo sexual nem sempre corresponda ao perfil desejado
para um projeto de aliança. Em princípio, este último perfil não comporta uma
diferença exótica racializada e sexualizada tão acentuada como o primeiro.
20 Independentemente destas nuances e mais do que coligada a marcadores corporais, a
alteridade desejada pelos europeus remete, acima de tudo, para construções simbólicas
do feminino enquanto parte integrante da própria identidade do Brasil. É sobretudo em
função da categoria nacionalidade, como adverte Piscitelli (2008), e dos estereótipos
que lhes estão associados – como é o caso da noção de “caliente” para Cuba (Simoni
2013) –, conferindo singularidade exótica, erótica e emocional à mulher brasileira, que
os turistas em Ponta Negra desejam novos enquadramentos e formas relacionais para
construir a sua vida íntima. Para tal, pressupõem ser possível (re)encontrar nos
trópicos uma suposta autenticidade feminina e de intimidade (Piscitelli 2004b, 2004c)
que a Europa estará a perder, ainda que o objeto da sua procura lhes possa surgir, acima
de tudo, como performance mais ou menos contingencial, sob a forma ilusória de
“autenticidade encenada” (MacCannell 1973). Tal como muitos outros turistas, também
estes têm um olhar romântico – “romantic gaze” (Urry 1996) – sobre o lugar turístico e
parecem manifestar “ansiedade sobre a autenticidade” (Harkin 1995, citado em Abbink
2004: 269). Compreende-se, assim, o facto de considerarem a ambicionada alteridade na
intimidade como algo que só será verdadeiramente possível no Brasil. O relato de
Baldovino, um advogado italiano de 48 anos que acompanhei em Ponta Negra e em
Milão, é esclarecedor:
“Uma coisa é a brasileira lá [Brasil], outra coisa é aqui, na Europa. Eu posso falar…
eu já tive mulher brasileira lá e mulher brasileira aqui, em Milão. Lá, elas nos
parecem mais tradicionais, mais calmas, mais calorosas. Aqui ficam mais parecidas
com as italianas, um pouco mais frias. Ficam mais consumistas… elas já são no
Brasil, mas aqui em Milão, elas estão na sua ecologia natural. E a minha relação com
a brasileira que conheci aqui em Milão não deu certo porque nós tínhamos poucas
coisas parecidas… em comum. Ela já estava aqui há mais de dez anos. Ela era muito
consumista e eu não. Era muito superficial… não dava para ter conversas mais
complexas. A única coisa que tínhamos em comum era o ski. Eu gosto muito de fazer
ski e ela também gostava. A nossa relação também foi-se mantendo porque… apesar
de mais parecida com a italiana, o calor da mulher brasileira que vive na Europa
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
65
nunca desaparece completamente. Há sempre alguma coisa que fica. Só que isto não
chegava para manter a relação. Era pouco!”
21 Segundo este exercício masculino de dedução do valor da brasileira fora do Brasil, o que
parece estar em causa é uma profunda alteração e corrupção dos atributos que
alegadamente lhe conferem autenticidade, resultante da mudança do cenário
geográfico em que se confrontam e cruzam as fronteiras da alteridade. Aos olhos dos
homens europeus, o “calor” da feminilidade tropical perder-se-á na travessia atlântica
e no inevitável contacto com ambientes mais “frios”. Assim, mesmo tendo acesso a
mulheres brasileiras na Europa, muitos procuram experiências passionais na origem, na
expectativa de que aí essas experiências lhes proporcionem um valor acrescido de
exotismo e genuinidade.
O calor que faltava
22 As deslocações turísticas masculinas para Ponta Negra, tal como muitas outras
mobilidades, não são inócuas quanto ao modo como os sujeitos entendem, cumprem e
apresentam as suas identidades de género (Cresswell e Uteng 2008). Os trânsitos em
causa estabelecem mudanças de enquadramentos e de subjetividades, favorecendo
experiências de masculinidade tidas como dificilmente concretizáveis nos países
europeus. Investido de uma densa polissemia, o “calor” brasileiro é, mais uma vez,
apropriado metaforicamente pelos turistas para indiciarem o que lhes falta(va) para
uma maior convergência face às idealizações de intimidade e do que é ser homem. Aqui,
como na generalidade dos casos, a metáfora representa “uma asserção sobre uma
situação disforme. Ela diz que algo muito mais concreto e apreensível – uma pedra
rolando, um pássaro na mão – é equivalente aos elementos essenciais em uma outra
situação que temos dificuldade em entender” (Fernandez 1986, citado em Geest e Whyte
2011: 464). Quando interpelava os meus interlocutores europeus sobre as razões da
escolha do destino turístico em causa, as suas respostas remetiam quase sempre para
metáforas térmicas que, simbolicamente, sinalizam contrastes transatlânticos e
possibilidades de reajustamento identitário decorrentes da deslocação para uma
ecologia “mais quente”.
23 Nestas metáforas, o calor do clima tropical é, por analogia e reflexo, e em oposição ao
frio da Europa, tomado como referência de qualificação positiva do lazer, do convívio
masculino e das experiências de intimidade que o Brasil proporciona. Constitui,
portanto, um denominador sintético e simbólico de circunstâncias sociais que, em
princípio, podem propiciar o reforço dos processos de homossociabilidade – decisivos
na produção e legitimação da identidade viril – e a (re)capitalização de valores
dominantes de masculinidade; afinal, “Men who are not exceptionally privileged at
home are able to step closer to the ideal of hegemonic masculinity while on holiday”
(Rivers-Moore 2012: 866). Além dos valores viris decorrentes do incremento do estatuto
socioeconómico proporcionado pela deslocação transatlântica, ganham particular
relevância os valores associados às celebrações hedonistas que o próprio contexto
estimula, às competências de conquista passional e de expressão da sexualidade e,
inclusivamente, às capacidades de escolha e sedução da “mulher certa” para constituir
família.
24 A estadia em Ponta Negra corresponde a um tempo de grande interação e cumplicidade
masculina, isento de muitos dos constrangimentos presentes nos países de origem. O
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
66
afrouxamento das obrigações e restrições quotidianas representa uma excelente
oportunidade para se reavivarem laços de comunhão a que as responsabilidades da vida
adulta retiraram algum cabimento e que a hierarquia e competição do mercado de
trabalho colocou sob intensa pressão (Kruhse-Mountburton 1995): “Na Europa estamos
baseados no trabalho, trabalho, trabalho! Aqui não. Aqui deixa-se o trabalho. São modos
de viver diferentes. Aqui é tudo totalmente diferente. Aqui é só para os amigos e
divertimento!” [turista italiano, 43 anos]. Alguns referem o companheirismo viril como
uma finalidade em si mesma da própria deslocação turística. Por vezes, e seguindo uma
retórica masculina bastante comum, a convivência com os pares é alvo de uma
(sobre)valorização que aparenta sobrepor-se à importância atribuída a outras
experiências que, à partida, poderiam considerar-se alvo de um desejo muito maior: “O
meu grande objetivo não é vir para aqui pelo sexo. Eu quero relaxar, estar com os meus
amigos e, se encontrar uma rapariga, é bom ter sexo, mas não é realmente importante”
[turista holandês, 30 anos]. Independentemente da importância que lhes é atribuída, as
conquistas heterossexuais são objeto de permanente discussão e escrutínio entre
amigos. Nessa medida, constituem matéria nuclear das práticas de virilidade, sobretudo
discursivas, que fundam o sentido de pertença ao grupo e lhe conferem atributos
identitários.
25 O ambiente homossocial em Ponta Negra evidencia muitas das características que
Maffesoli (1998 [1988]) atribui ao “tribalismo pós-moderno”: o presenteismo vitalista, o
orgiasmo social, o hedonismo e os excessos festivos. A calorosa celebração do momento
convida os turistas a formas de apresentação do eu, disposições e comportamentos
pouco frequentes nas suas vidas na Europa, mesmo em tempos e espaços de lazer. Estas
manifestações ganham particular significado entre os menos jovens, que parecem fruir
o tempo que passam no Brasil como uma experiência nostálgica de revivalismo de
manifestações de masculinidade e da juventude que tiveram ou desejavam ter tido. A
forma como, frequentemente, se vestem e os adereços que usam (v. g. lenços de cabeça
“à pirata”, colares coloridos), o modo arrojado como alguns conduzem as motos estilo
Vespa, a expressão desinibida e afirmativa da corporeidade, as conquistas passionais e a
constante proclamação do vigor físico junto dos pares são exemplos que apontam para
estéticas e performances mais associadas à juventude. A este propósito, lembro o
comentário feito pelo Giacomo (italiano de 58 anos, turista/residente) quando viu
passar por nós numa Vespa, a uma velocidade considerável, dois conhecidos, também
italianos, com mais de 60 anos, usando bonés com a pala para trás e óculos de sol:
“Esses vêm para cá e morrem sem se aperceber!” Com isto queria dizer que Ponta Negra
lhes proporciona um entusiasmo revigorante, capaz de mitigar a intuição subjetiva do
fluir do tempo e do envelhecimento.
26 A diversão, as saídas noturnas e os relacionamentos amorosos, geralmente com
mulheres mais novas, parecem funcionar para estes homens como uma espécie de elixir
da juventude que lhes permitirá recuperar formas de masculinidade desvanecidas e
experienciar um sentimento de empoderamento e autoestima viril (Chow-White 2006;
Kempadoo 1999; Kruhse-Mountburton 1995; O’Connell-Davidson 2001; Rivers-Moore
2012). A intimidade é um palco central destas alterações transnacionais na
subjetividade masculina e na afirmação da identidade de género. É nesse palco que os
turistas perseguem vivências que consideram de difícil concretização na Europa, desde
logo pelos alegados constrangimentos decorrentes de feminilidades tidas como
“demasiado emancipadas” e porque as mulheres mais valorizadas lhes são
praticamente inacessíveis, por razões de ordem económica, estética, relacional e/ou de
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
67
estatuto social. Com a deslocação transatlântica asseguram ganhos relativos de
capacidade económica, de capital simbólico e até de atratividade, 8 de que decorrem
transformações significativas nas coordenadas de configuração da intimidade. Fazendo
uso da sua habitual eloquência, o Giacomo ilustrou esta questão assim: “Como é que um
homem como eu, com 58 anos, vai arranjar uma mulher de 20 e poucos anos na Europa,
uma velina? 9 Só se tiver um Ferrari, só se for rico. O Briatori pode! Com o dinheiro,
pode. Nós temos de vir para cá. Aqui, eu posso ter a minha Naomi [Campbell]! Cá, sou
como o Briatori e não sou milionário”.
27 Em Ponta Negra, a conquista de mulheres que se enquadram em perfis desejados pode,
em muitos casos, ser “ilusória” e estrategicamente instrumentalizada pelas parceiras,
por motivos materiais. Contudo, essa conquista não deixa de contribuir para a
emergência de metamorfoses significativas na forma como a masculinidade é
experienciada. As mais relevantes, segundo os próprios turistas, circunscrevem-se à
sexualidade, eixo nevrálgico da (auto)afirmação dos valores hegemónicos da identidade
masculina (Almeida 1995; Connell 1995):
“Um gajo aqui puxa, com o calor… tanto para elas como para nós. A conversar com
um amigo português de João Pessoa [capital do estado vizinho da Paraíba], ele diz-
me: ‘Ó pá, eu chego aqui e tenho tesão e lá em Portugal eu não tinha, já não ligava
puto’. Comigo é o mesmo. […] Agora, eu também me libertei um bocado. Como se diz
em Portugal, soltei um bocado a franga. Aqui virei ao contrário. Eu aqui mudei.
Parece que estou a viver uma segunda meninice… um pouco” [turista/residente
português, 70 anos].
28 Em comparação com a sua vida íntima na Europa, estes homens sentem-se
rejuvenescidos, mais desejados e com maior predisposição para o erotismo e a atividade
sexual; capazes de fruir e de proporcionar um prazer que os faz sentir verdadeiramente
homens.10 Quando os instava a encontrar explicações para as mudanças nas suas
vivências pessoais da sexualidade e da masculinidade, o “calor” (do clima e da mulher
brasileira) era, recorrentemente, invocado como o principal e mais imediato fator
justificativo. Numa correlação antitética face ao “frio” europeu, o “calor” brasileiro é
tido como elemento positivo de irradiação de energia revigorante. O relato que se segue
demonstra-o com particular expressividade:
“Ela [a companheira] é que me está a dar a idade, ela é que me está a pôr novo. Não
me estou a pôr velho…, novo! Eu, ontem, funcionou a 100%, 500%! E hoje venho mais
o meu primo aqui [praia de Ponta Negra] a pé, deixo ali a coisa, a t-shirt e a sandália,
e estás a ver? Todos os órgãos estão a funcionar a 500%. […] Em Portugal tinha duas,
mas não estava a funcionar bem. Uma com 40 anos e outra mais velha. Tinha lá uma
da minha idade, 70 anos… Mas a máquina dela, lá em Portugal, não funciona como a
minha. A desta aqui funciona por causa do calor. Isso faz tanta diferença, tanta
diferença! A máquina dela é mais quente. […] A mulher brasileira mexe mais um
bocado… mexe mais um bocado e é mais calorenta. A mulher brasileira é mais
calorenta! Tem mais calor. E funciona bem ali… trabalha bem! […] Aqui, estou a
500%. Elas [as mulheres] é que me fazem a mim novo. É tanto que eu digo que aqui é
o hospital da velhice. […] Ó pá, mas o Brasil é só para não apanhar lá frio [em
Portugal]. É pela questão do frio. Isto aqui é que me dá saúde, mesmo! Cada vez
estou mais novo. E de que maneira! Com dez anos de diferença. ’Tá bem que elas
[brasileiras] também estão lá [em Portugal], mas é o clima… o clima é que manda! O
calor e essas coisas todas…” [turista português, 71 anos].
29 É caso para dizer, como sugere poeticamente Littlewood (2001) no seu livro Sultry
Climates: Travel and Sex since the Grand Tour, que o erotismo e a sexualidade são mais
intensos onde o clima é cálido. Mas não é apenas prazer sexual que os europeus
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
68
procuram no “calor” de Ponta Negra. Também é afeto, romantismo e aliança,
inclusivamente quando os relacionamentos assumem um perfil mais comercial.
Encontrar uma mulher com as características consideradas adequadas para casar e
constituir família é uma aspiração de grande relevância na ideologia da masculinidade
da maior parte dos europeus que conheci. Esta aspiração é sinalizada, mais uma vez,
através de uma metáfora térmica na qual tendem a expressar preferência pela mulher
brasileira, considerando-a “mais calorosa” 11 (meiga, humilde, pouco emancipada,
orientada para a família) que a europeia; ainda que, num registo de manifesta
ambiguidade, possam também apontar à primeira, em particular quando conotada com
a prostituição, características que remetem para o facto de, supostamente, ser
interesseira e menos confiável e responsável.
30 Seja na intimidade ou na homossociabilidade que acompanham as práticas de lazer, o
“calor” do Brasil é construído pelos turistas como o elemento compensador e
revivalista que lhes permite resgatar sensações e expressões de masculinidade
adormentadas pelo “frio” da Europa. Porém, esta experiência transatlântica de
intensificação da virilidade não deixa de estar associada, amiúde, às já mencionadas
ilusões passionais de normalidade e conquista (Piscitelli 2004b; Ribeiro e Sacramento
2006). Por outro lado, encontra-se vinculada a subjetividades sem correspondência
significativa em termos de reconhecimento social, como ressalva O’Connell-Davidson
(2001) para os turistas ocidentais na República Dominicana. Aliás, a viagem para
destinos sexualizados é bastante associada à procura de sexo comercial, pelo que as
experiências transnacionais de intimidade, independentemente da forma que assumem,
tendem a ser estigmatizadas e citadas por terceiros, sobretudo concidadãos, como
argumento de qualificação negativa da masculinidade. Apesar de tudo, isto não inibe os
visitantes de Ponta Negra, já depois de regressados à Europa, de evocar constantemente
memórias da estadia e de manifestar a sua nostalgia pelo ambiente quente dos trópicos.
Considerações finais
31 Os discursos e as práticas dos turistas europeus em Ponta Negra evidenciam desejos de
construir alternativas às experiências de convivência íntima na Europa, consideradas
pouco satisfatórias, e de encontrar circunstâncias favoráveis à (re)afirmação de
identidades masculinas que a emancipação feminina ocidental e o peso das obrigações
quotidianas alegadamente terão entorpecido. Na maioria dos casos, esta demanda de
mudanças não pressupõe, à partida, ruturas ou transformações identitárias radicais.
Trata-se, antes, de um processo que tende mesmo a ser impulsionado pelas noções
hegemónicas de intimidade e de masculinidade dos próprios turistas, pelo que será
adequado associá-lo à tentativa de alargamento, à escala transnacional, do horizonte de
oportunidades de concretização daquelas noções. Estes homens anseiam, assim, por
cenários íntimos e de convivência homossocial que lhes proporcionem vivências de
género, configurações passionais e possibilidades afetivas e conjugais tidas como mais
convergentes com as suas subjetividades e pretensões, embora estas não sejam fixas e
possam transfigurar-se de modo mais ou menos significativo em função da própria
experiência turística em Ponta Negra.
32 Imbuídos de representações exóticas e sensuais do Brasil, sobretudo do Brasil no
feminino – inscritas no imaginário sexualizado e racializado dos períodos colonial e
pós-colonial –, e congregando em geometrias variáveis distintos desejos e projetos, os
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
69
turistas europeus esperam encontrar “calor” no Nordeste brasileiro: (i) manifestações
autênticas, dóceis e não emancipadas de feminilidade e, assim, concretizar cânones de
género, paixão, conjugalidade e família que julgam mais dificilmente realizáveis no
continente europeu; (ii) um exotismo sexual na origem, em “estado puro”, alimentado
pelo fogo dos trópicos, e, supostamente, ainda não mercantilizado e/ou arrefecido
como o que lhes é proporcionado na Europa por mulheres brasileiras; (iii) intensas
experiências homossociais e um ambiente cálido que os resgate de quotidianos
monocórdicos e de um certo inverno viril que alegam viver nos países de origem.
33 As narrativas das mudanças na esfera da intimidade associadas à deslocação turística
para Ponta Negra tendem a ser alicerçadas no lastro figurativo de metáforas térmicas,
através das quais o “calor” revitalizante dos trópicos é, de forma sistemática,
contrastado com o “frio” debilitante do continente europeu. Nestas metáforas é
mobilizada a construção semântica dominante do Brasil como destino triplamente
“quente”: do ponto de vista climático, social (v. g. afetuosidade) e eróticossexual. Aliás,
o adjetivo é, repetidamente, utilizado com esta diversidade de sentidos, tal como o seu
oposto é associado, em simultâneo, às condições de clima, à sociabilidade e à
sexualidade na Europa. O contraste eminentemente relacional dos polos térmicos
destes empreendimentos metafóricos configura o eixo simbólico por via do qual são
produzidas as representações e indexados os desígnios (e as respetivas justificações)
que dão corpo às narrativas das experiências passionais transatlânticas. Nas suas
narrativas, os turistas europeus indiciam uma nítida aversão às “intimidades frias” do
“capitalismo emocional”, no qual os discursos e práticas económicas e sentimentais se
pressupõem mutuamente (Illouz 2007: 5). Porém, as intimidades que encontram no
Brasil, ainda que semanticamente colonizadas por noções cálidas com grande
densidade histórica, não deixam de estar permeadas, de forma mais ou menos
camuflada, por lógicas materiais. Afinal, como notam Adelman (2011) e Zelizer (2005),
além de poética, os vínculos íntimos, inevitavelmente, também comportam política e
economia.
Receção da versão original / Original version
2017 / 04 / 14
Aceitação / Accepted 2018 / 03 / 08
BIBLIOGRAFIA
ABBINK, Jon, 2004, “Tourism and its discontents: Suri-tourist encounters in Ethiopia”, em Sharon
Gmelch (org.), Tourists and Tourism: A Reader. Long Grove, Waveland Press, 267-287.
ADELMAN, Miriam, 2011, “Por amor ou por dinheiro? Emoções, discursos, mercados”,
Contemporânea: Revista de Sociologia da UFSCar, 1 (2): 117-138.
ALMEIDA, Miguel Vale de, 1995, Senhores de Si: Uma Interpretação Antropológica da Masculinidade.
Lisboa, Fim-de-Século Edições.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
70
ALMEIDA, Miguel Vale de, 2004, Outros Destinos: Ensaios de Antropologia e Cidadania. Porto, Campo
das Letras.
BARLÉU, Gaspar, 1940 [1647], O Brasil Holandês sob o Conde João Maurício de Nassau. Rio de Janeiro,
Serviço Gráfico do Ministério da Educação.
BECK, Ulrich, e Elisabeth BECK-GERNSHEIM, 2004, The Normal Chaos of Love. Cambridge, Polity
Press.
BERNSTEIN, Elizabeth, 2007, Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex.
Chicago e Londres, The University of Chicago Press.
BRENNAN, Denise, 2004, “When sex tourists and sex workers meet: encounters within Sosúa, the
Dominican Republic”, em Sharon Gmelch (org.), Tourists and Tourism: A Reader. Long Grove,
Waveland Press, 303-315.
CABEZAS, Amalia, 2009, Economies of Desire: Sex and Tourism in Cuba and the Dominican Republic.
Filadélfia, Temple University Press.
CHOW-WHITE, Peter, 2006, “Race, gender and sex on the net: semantic networks of selling and
storytelling sex tourism”, Media, Culture & Society, 28 (6): 883-905.
CONNELL, Robert, 1995, Masculinities: Knowledge, Power and Social Change. Berkeley, University of
California Press.
CRESSWELL, Tim, e Tanu UTENG, 2008, “Gendered mobilities: towards an holistic understanding”,
em Tanu Uteng e Tim Cresswell (orgs.), Gendered Mobilities. Aldershot, Ashgate, 1-12.
ENLOE, Cynthia, 1989, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics.
Londres, Pandora.
FERNANDEZ, James, 1986, Persuasions and Performances: The Play of Tropes in Culture. Bloomington,
Indiana University Press.
FERNANDEZ, James (org.), 1991, Beyond Metaphor: The Theory of Tropes in Anthropology. Stanford,
Stanford University Press.
FISCHER, Michael, 2012, “On metaphor: reciprocity and immunity”, Cultural Anthropology, 27 (1):
144-152.
FROHLICK, Susan, 2008, “ ‘I’m more sexy here’: erotic subjectivities of female tourists in the
‘sexual paradise’ of Caribbean Costa Rica”, em Tanu Uteng e Tim Cresswell (orgs.), Gendered
Mobilities. Aldershot, Ashgate, 129-142.
FROHLICK, Susan, 2010, “The sex of tourism? Bodies under suspicion in paradise”, em Julie Scott
e Tom Selwyn (orgs.), Thinking through Tourism. Oxford e Nova Iorque, Berg, 51-70.
GEEST, Sjaak Van Der, e Susan WHYTE, 2011, “O encanto dos medicamentos: metáforas e
metonímias”, Sociedade e Cultura, 14 (2): 457-472.
GIDDENS, Anthony, 2001 [1992], Transformações da Intimidade: Sexualidade, Amor e Erotismo nas
Sociedades Modernas. Oeiras, Celta.
GIDDENS, Anthony, 2002, Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.
GOMES, Danielle, et al., 2010, “Acuarela multicolor: Brasil pintado por los turistas extranjeros”,
Estudios y Perspectivas en Turismo, 19: 607-655.
HARKIN, Michael, 1995, “Modernist anthropology and tourism of the authentic”, Annals of
Tourism Research, 22: 650-670.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
71
HOEFINGER, Heidi, 2013, Sex, Love and Money in Cambodia: Professional Girlfriends and Transactional
Relationships. Abingdon e Nova Iorque, Routledge.
HOLANDA, Sérgio B., 1990 [1936], Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio.
ILLOUZ, Eva, 1999, “The lost innocence of love: romance as a postmodern condition”, em Mike
Featherstone (org.), Love & Eroticism. Londres, Sage, 161-186.
ILLOUZ, Eva, 2007, Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism. Cambridge (UK) e Malden
(MA), Polity Press.
KEMPADOO, Kamala (org.), 1999, Sun, Sex, and Gold: Tourism and Sex Work in the Caribbean. Lanham,
Rowman & Littlefield.
KIMMEL, Michael, 2004, “Metaphor variation in cultural context: perspectives from
Anthropology”, European Journal of English Studies, 8 (3): 275-293.
KING, Russell, 2002, “Towards a new map of European migration”, International Journal of
Population Geography, 8: 89-106.
KRUHSE-MOUNTBURTON, Suzy, 1995, “Sex tourism and traditional Australian male identity”, em
Marie-Françoise Lanfant, John Allcock e Edward Bruner (orgs.), International Tourism: Identity and
Change. Londres, Sage, 192-204.
KUMMELS, Ingrid, 2005, “Love in the time of diaspora: global markets and local meanings in
prostitution, marriage and womanhood in Cuba”, Iberoamericana, 5 (20): 7-26.
LAKOFF, George, e Mark JOHNSON, 2003 [1980], Metaphors We Live By. Chicago, The University of
Chicago Press.
LITTLEWOOD, Ian, 2001, Sultry Climates: Travel and Sex since the Grand Tour. Londres, John Murray.
MACCANNELL, Dean, 1973, “Staged authenticity: arrangements of social space in tourist
settings”, American Journal of Sociology, 73 (3): 589-603.
MAFFESOLI, Michel, 1998 [1988], O Tempo das Tribos: O Declínio do Individualismo nas Sociedades de
Massa. Rio de Janeiro, Forense Universitária.
NAGEL, Joane, 2003, Race, Ethnicity, and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden Frontiers. Oxford,
Oxford University Press.
O’CONNELL-DAVIDSON, Julia, 2001, “The sex tourist, the expatriate, his ex-wife and her ‘other’:
the politics of loss, difference and desire”, Sexualities, 41 (1): 5-24.
ORTEGA Y GASSET, José, 2005 [1917-1925], Obras Completas: Tomo III. Madrid, Taurus.
PATICO, Jennifer, 2009, “For love, money, or normalcy: meanings of strategy and sentiment in the
Russian-American matchmaking industry”, Ethnos, 74 (3): 307-330.
PINA-CABRAL, João de, 2017, World: An Anthropological Examination. Chicago, HAU Books.
PISCITELLI, Adriana, 2004a, “On ‘gringos’ and ‘natives’: gender and sexuality in the context of
international sex tourism”, Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology, 1 (1-2): 87-114, disponível em
http://www.vibrant.org.br/issues/v1n1/adriana-piscitelli-on-gringos-and-natives/ (última
consulta em junho de 2019).
PISCITELLI, Adriana, 2004b, “El tráfico del deseo: interseccionalidades no marco do turismo
sexual no Nordeste do Brasil”, Quaderns-e, 4, disponível em http://www.antropologia.cat/antiga/
quaderns-e/04/04_03.htm (última consulta em junho de 2019).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
72
PISCITELLI, Adriana, 2004c, “Exotismo e autenticidade: relatos de viajantes à procura de sexo”,
em M. C. Silva (org.), Outros Trópicos: Novos Destinos Turísticos, Novos Terrenos da Antropologia.
Lisboa, Livros Horizonte, 101-123.
PISCITELLI, Adriana, 2008, “Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de
migrantes brasileiras”, Sociedade e Cultura, 11 (2): 263-274.
PISCITELLI, Adriana, 2009, “Tránsitos: circulación de brasileñas en el ámbito de la
transnacionalización de los mercados sexual y matrimonial”, Horizontes Antropológicos, 15 (31):
101-136.
PISCITELLI, Adriana, 2011, “¿Actuar la brasileñidad? Tránsitos a partir del mercado del sexo”,
Etnográfica, 15 (1): 5-29, disponível em https://journals.openedition.org/etnografica/765 (última
consulta em junho de 2019).
PISCITELLI, Adriana, 2016, “Economias sexuais, amor e tráfico de pessoas: novas questões
conceituais”, Cadernos Pagu, 47: e16475.
RIBEIRO, Fernando B., e Octávio SACRAMENTO, 2006, “Sexo, amor e interesse entre gringos e
garotas em Natal”, Cronos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, 7 (1):
161-172.
RIBEIRO, Manuela et al., 2007, Vidas na Raia: Prostituição Feminina em Regiões de Fronteira. Porto,
Afrontamento.
RIVERS-MOORE, Megan, 2012, “Almighty gringos: masculinity and value in sex tourism”,
Sexualities, 15 (7): 850-870.
ROCA GIRONA, Jordi, 2007, “Migrantes por amor: la búsqueda y formación de parejas
transnacionales”, AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana, 2 (3): 430-458.
ROCA GIRONA, Jordi, 2011, “[Re]buscando el amor: motivos y razones de las uniones mixtas de
hombres españoles con mujeres extranjeras”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,
LXVI (2): 487-514.
SACRAMENTO, Octávio, 2014, Atlântico Passional: Mobilidades e Configurações Transnacionais de
Intimidade Euro-Brasileiras. Lisboa, ISCTE-IUL, tese de doutoramento.
SACRAMENTO, Octávio, 2016a, “Turismo e transnacionalização da intimidade nos trópicos
globais”, Revista Turismo em Análise, 27 (2): 256-273.
SACRAMENTO, Octávio, 2016b, “Conjugalidades distendidas: trânsitos, projetos e casais
transatlânticos”, DADOS: Revista de Ciências Sociais, 59 (4): 1207-1240.
SACRAMENTO, Octávio, 2018, “From Europe with passion: frameworks of the touristic male desire
of Ponta Negra, in the North-East of Brazil”, Current Issues in Tourism, 21 (2): 210-224.
SILVA, Manuel C., 2003, “Honra-vergonha: código cultural mediterrânico ou forma de controlo de
mulheres?”, em José Portela e João Caldas (orgs.), Portugal Chão. Oeiras, Celta, 67-86.
SIMONI, Valerio, 2013, “Intimate stereotypes: the vicissitudes of being caliente in touristic Cuba”,
Civilisations, 62: 181-198, disponível em http://journals.openedition.org/civilisations/3320
(última consulta em junho de 2019).
SIMONI, Valerio, 2014, “Coping with ambiguous relationships: sex, tourism, and transformation
in Cuba”, Journal of Tourism and Cultural Change, 12 (2): 166-183.
SIMONI, Valerio, 2015, Tourism and Informal Encounters in Cuba. Nova Iorque e Oxford, Berghahn
Books.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
73
SIMONI, Valerio, 2016, “Shaping money and relationships in touristic Cuba”, em Gunnar
Jóhannesson, Carina Ren e René van der Duim (orgs.), Tourism Encounters and Controversies:
Ontological Politics of Tourism Development. Londres e Nova Iorque, Routledge, 21-38.
STOLCKE, Verena, 2006, “O enigma das interseções: classe, ‘raça’, sexo, sexualidade. A formação
dos impérios transatlânticos do século XVI ao XIX”, Estudos Feministas, 14 (1): 15-42.
SUNDERLAND, Patricia, e Rita DENNY, 2016, “The social life of metaphors: have we become our
computers”, em Patricia Sunderland e Rita Denny (orgs.), Doing Anthropology in Consumer Research.
Abingdon e Nova Iorque, Routledge, 93-110.
THURNELL-READ, Thomas, e Mark CASEY (orgs.), 2015, Men, Masculinities, Travel and Tourism.
Basingstoke e Nova Iorque, Palgrave Macmillan.
TURNER, Victor, 1974, Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. Ithaca e
Londres, Cornell University Press.
URRY, John, 1996, O Olhar do Turista: Lazer e Viagens nas Sociedades Contemporâneas. São Paulo,
Studio Nobel.
WILLIAMS, Erica, 2013, Sex Tourism in Bahia: Ambiguous Entanglements. Champaign, University of
Illinois Press.
ZELIZER, Viviana, 2005, The Purchase of Intimacy. Princeton, Princeton University Press.
NOTAS
1. O trabalho para doutoramento foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
através da bolsa SFRH/BD/60862/2009. Os centros de investigação em que o autor está filiado
beneficiam ainda dos financiamentos UID/SOC/04011/2019 (Cetrad-UTAD) e UID/ANT/
04038/2019 (CRIA).
2. Contudo, não é de todo incomum a presença de turistas com idades inferiores e superiores ao
intervalo indicado. Como se poderá constatar ao longo do texto, alguns dos meus principais
informantes têm idades na ordem dos 50, 60 e 70 anos.
3. Tal como referi em texto anterior (Sacramento 2018), as biografias destes turistas indiciam
muitas das atuais tendências sociodemográficas dos países europeus – aumento do celibato e do
divórcio, casamento tardio, redução da nupcialidade –, associadas às mudanças nos modelos de
intimidade e família: mutações nas identidades e relações de género, individualização,
turbulência das relações amorosas e novas disposições dos vínculos conjugais e parentais (Beck e
Beck-Gernsheim 2004; Giddens 2001 [1992]; Illouz 1999; Roca Girona 2011).
4. Depois de analisar documentos relativos aos aspetos mais íntimos das viagens culturais de Lord
Byron, de Oscar Wilde e de outros escritores, Littlewood (2001) mostra-nos que as suas digressões
turísticas, a par da erudição, tinham subjacente uma forte componente sexual.
5. Para esses devaneios muito contribui a inexistência de fronteiras inequívocas a diferenciar a
relação íntima pessoal e a relação comercial. Nos contextos mais mercantilizados, as
trabalhadoras sexuais, por norma, usam o preservativo com os seus clientes, recusam o beijo na
boca e estipulam um preço pelos serviços que prestam (Ribeiro et al. 2007). De forma distinta, no
âmbito dos “programas”, a utilização do preservativo não é tão categórica, o beijo na boca é uma
prática comum e o pagamento nem sempre obedece a um padrão rígido e monetarizado.
6. Procurando justificar a existência nos trópicos de manifestações eróticas e sexuais
inimagináveis para o contexto europeu, o historiador e teólogo holandês Caspar Barlaeus
(Barléu), no seu relato de 1647, destacava a crença europeia de que “não existe pecado a sul do
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
74
Equador. […] Como se a linha que divide o mundo em dois hemisférios também separasse a
virtude do vício” (citado em Holanda 1990 [1936]: 212).
7. Umas e outras são sinalizadas em categorias produzidas pela sociedade brasileira e já
assimiladas por bastantes turistas. Rótulos como “garota de programa”, “rapariga” e “piriguete”
qualificam mulheres alvo de uma forte conotação sexual e cujo comportamento rompe com os
valores de género dominantes. Nos antípodas encontramos a categoria “moça de família”,
utilizada para fazer referência a mulheres que se enquadram nos parâmetros hegemónicos da
feminilidade e que correspondem ao modelo de mulher normal que os turistas mais desejam, em
especial quando têm em perspetiva uma relação conjugal.
8. A brancura e os olhos claros dos europeus, por exemplo, são alvo de grande valorização
estética por parte das mulheres locais.
9. Velina: designação italiana para a mulher que corporiza cânones de beleza e sensualidade
amplamente mediatizados.
10. Semelhante alteração nas “subjetividades eróticas” foi constatada por Frohlick (2008) entre
mulheres ocidentais em turismo na Costa Rica.
11. Neste contexto, o calor atribuído à mulher brasileira indicia, principalmente, propriedades de
género pouco sexualizadas e que se enquadram no termo emocional da dicotomia masculina da
feminilidade de que falava atrás. De modo distinto, o calor que lhe é atribuído quando é
qualificada como “quente” configura, quase sempre, uma representação hipersexualizada.
RESUMOS
Fomentado por uma etnografia das configurações de intimidade euro-brasileiras associadas ao
turismo no bairro de Ponta Negra (Natal-RN, Nordeste do Brasil), o artigo centra-se nas
representações, expectativas e experiências de turistas europeus envolvidos em relações
passionais transatlânticas. Os discursos e as práticas destes turistas evidenciam desejos de
construir alternativas às formas de convivência íntima na Europa e de encontrar circunstâncias
favoráveis à (re)afirmação de identidades masculinas que, alegadamente, a emancipação
feminina e o peso das obrigações quotidianas terão entorpecido. Na sua discursividade
sobressaem metáforas térmicas de perfil binário nas quais o Brasil é simbolizado como
triplamente “quente” (clima, sociabilidades e sexualidade), sempre em relação e por oposição à
“fria” Europa. Enquanto elementos de indexação simbólica, estas metáforas permitem aceder à
compreensão das subjetividades, expressões identitárias e vivências de intimidade masculinas
nos trópicos e, simultaneamente, a alguns dos desígnios que fundam as mobilidades turísticas em
causa.
Propelled by an ethnography of Euro-Brazilian intimacy configurations associated with tourism
in the Ponta Negra district (Natal-RN, Northeastern Brazil), the article focuses on the
representations, expectations and experiences of European tourists involved in transatlantic
passionate affairs. The discourses and practices of these tourists show the desire to construct
alternatives to the modes of intimate association in Europe and to find favorable circumstances
to (re)affirm masculine identities that allegedly feminine emancipation and the burden of
everyday obligations would have numbed. In the tourists’ discourse, binary thermic metaphors
stand out in which Brazil is symbolized as triply “hot” (regarding climate, sociability and
sexuality), always with reference and in contrast to the “cold” Europe. As symbolic indexing
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
75
elements, these metaphors enable access to the understanding of subjectivities, identity
expressions and experiences of male intimacy in the tropics, and, at the same time, to some of
the purposes underlying these touristic mobilities.
ÍNDICE
Keywords: tourism, Euro-Brazilian intimacies, thermic metaphors, masculinity
Palavras-chave: turismo, intimidades euro-brasileiras, metáforas térmicas, masculinidade
AUTOR
OCTÁVIO SACRAMENTO
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (Cetrad-UTAD); Centro em Rede de Investigação em Antropologia, polo ISCTE-IUL
(CRIA-IUL), Portugal
octavsac@utad.pt
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
76
A vida na cidade e a invenção da
“cultura”: imagens de
desenvolvimento a partir da “roça”
Living in town and the invention of “culture”: development images designed
from the countryside
Gustavo Meyer
Introdução
1 As transformações recentes do trabalho e da vida cotidiana no território que circunda a
pequena cidade de Arinos, no noroeste de Minas Gerais, podem ser vistas como
associadas ao modelo de desenvolvimento que ali se desdobrou. Por um lado, esse
modelo foi fruto de escolhas políticas de ordem macro realizadas décadas antes (Fausto
2006; Delgado 2005); por outro, foi posto em ação como consequência de uma
modernidade inspirada na ordem capitalista e nas novas tecnologias. Esta é uma visão
genérica e o redirecionamento das lentes investigativas à vida de agentes sociais locais
desvela processos particulares que se deram no “encerramento” de uma “época das
fazendas” e no aparecimento de “firmas”, de monoculturas “gaúchas” e de fazendas
capitalistas de cunho empresarial. Nesse processo, marcadamente, a vida na “roça” foi,
em grande medida, deslocada às capitais e às pequenas sedes municipais, em alguns
casos dando mesmo origem a estas últimas.
2 Algumas décadas após o grosso desse processo, em 2013-2014, eu realizava nessa região
uma etnografia que dava pistas sobre a relação, sui generis e profunda, entre a atividade
artístico-cultural de agentes ex-residentes na “roça” e os processos de mudança social
ali verificados, nomeadamente de desenvolvimento rural. Danças, folias e outros
elementos da cultura da “roça” movimentavam parte expressiva dessa atividade
artístico-cultural, que podia agora ser flagrada ocorrendo na cidade, causando algum
embaralhamento investigativo, dada a mudança no locus físico de ocorrência. 1 Este
artigo está debruçado sobre essa problemática, a partir da qual tentarei demonstrar
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
77
como a atual disputa por visões de mundo – por meio da construção de narrativas
contrastantes da realidade por atores sociais distintos – tem como lastro a vida outrora
vivida na “roça” e as experiências acumuladas por agentes sociais quando das suas
transições às pequenas sedes municipais e capitais. As histórias de vida de cinco
moradores da sede municipal de Arinos, acessadas entre abril e setembro de 2013 no
âmbito de uma etnografia mais ampla realizada na região, iluminam e dão conteúdo
empírico à abordagem. No âmbito dessa etnografia, recorri a métodos diversos, dentre
eles as observações simples e participante, as entrevistas abertas, semiestruturadas e
em profundidade e as conversas informais, cujos conteúdos foram registrados em
caderno de campo e complementados com registros fotográficos. Particularmente no
que se refere ao que está problematizado no presente artigo, parte substantiva das
informações foi gerada por meio do emprego do método das histórias de vida, seguindo
as pistas metodológicas de Meneghel (2007), Meneghel et al. (2008), Moreira (2002) e
Søndergaard (2002).
3 Contribuíram com suas histórias, em 2013: Dona Laurinda, “dançadora”, “jogadora de
verso” e aposentada; Dona Maria, “dançadora”, artesã e aposentada; Seu Antônio Maria,
“guia” da dança de São Gonçalo e aposentado; Lauro, “imperador” de Folia de Reis,
“guia” de São Gonçalo, artesão e pedreiro; Joaquina, coordenadora do Ponto de Cultura
Portal Veredas e professora da rede municipal de ensino. Trata-se de narradores
caracterizados pelo trabalho e residência nas “roças” antecedendo a vida na cidade e
pela relevante atuação artístico-cultural consubstanciada em apresentações de danças e
de folias e em gestão cultural de grupos e processos atuais locais. 2 Com exceção de Seu
Antônio Maria, os nomes citados são fictícios. Na medida do possível, privilegiei a forma
nativa de falar e as categorias êmicas recorrendo a aspas, visando possibilitar a
apreensão de significados particulares, evidentemente que com limitações. O texto que
segue nas próximas seções foi produzido a partir dessas histórias, mesclando-as e
distribuindo-as de modo a facilitar ao leitor a montagem mental dos (con)textos
vividos. Os focos das narrativas foram, em grande medida, produzidos pelos próprios
contadores, apesar de que algumas questões orientadoras foram formuladas com
antecedência. Observar-se-á, particularmente em relação às mulheres, a relevância de
momentos mais trágicos da vida compondo o eixo orientador das próprias histórias. A
despeito disso, sugere-se ao leitor que não reduza a vida desses contadores a um
apanhado de momentos trágicos; deve-se ter em conta que a transição às sedes
municipais, a qual foi destacada, é que o foi, e não a vida como um todo. Trata-se de
histórias que se passaram em grande parte na “roça”, “roça” esta substancialmente
diferente da de hoje.
4 As ações artístico-culturais realizadas por esses cinco narradores em Arinos devem ser
entendidas ocorrendo por dentro de – ou integradas às – ações de uma rede maior de
atores que coloco enquanto “contestatórios”, organizados e reconhecidos enquanto
sociedade civil ou movimento social. Trata-se de uma rede bastante coesa, cujo discurso
valoriza a cultura da “roça” e recorre a uma narrativa literária fundada no escritor João
Guimarães Rosa, em processo de retroalimentação da narrativa nativa (Meyer, Marques
e Barbosa 2016). A narrativa faz contraponto à ideia hegemônica de desenvolvimento,
fundada na “modernização do campo”, e é forjada, particularmente, em eventos e
processos artístico-culturais emblemáticos na região que circunda e envolve Arinos.
Tais eventos, assim como a forma de ação dessa rede contestatória, serão comentados
mais adiante. O encontro entre as trajetórias de vida desses narradores e as operações
dessa rede – a qual em tempos mais recentes eles vieram a compor – se dá pelo
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
78
reconhecimento dessas trajetórias por parte dos atores ligados à rede. Há, assim, um
compartilhamento dos valores que sustentam as histórias de vida nos narradores,
valores estes, muitas vezes, conflitantes com aqueles que guiaram a lógica hegemônica
de desenvolvimento que se desdobra ali.
5 Do ponto de vista teórico, a presente pesquisa insere-se na perspectiva de uma socio-
antropologia do desenvolvimento, no sentido em que a preposição antecedendo
“desenvolvimento” denota menos algum esforço de tentar delimitar uma subdisciplina
das ciências sociais e mais o reconhecimento da polissemia conferida pelos atores
sociais em relação ao que é desenvolvimento; há, assim, disputas pela representação da
realidade e pela produção de sentidos relacionados ao desenvolvimento. 3 Ao invés de
enxergar o desenvolvimento de forma totalitária, busca-se reconhecer e direcionar o
olhar investigativo à forma como os atores locais acessam signos e práticas da
modernidade e os atualizam em seus mundos sociais, muitas vezes repaginando-os
(Arce e Long 2000). Em outros termos, trato do encontro entre a visão ocidental e a
operação de outros repertórios culturais, ou, de outro modo, lanço luz à assunção de
que a modernidade implica em contratendências e ressignificações. Estas, ainda que
guiadas também segundo interesses particulares, são formuladas no bojo da cultura e
das experiências de vida; a mudança contemporânea, então, é reconhecidamente
complexa, heterogênea, multifacetada, sem que seja possível assegurar algum sentido
teleológico. Evidentemente, esse posicionamento acerca do desenvolvimento (rural)
contrasta, entretanto, com algumas interpretações clássicas das ciências sociais
relacionadas à movimentação de pessoas entre a “roça” e a cidade.
6 Uma das interpretações sobre a transição recente às cidades é aquela a partir da qual se
busca posicionar os novos habitantes destas últimas em situação de maior ou menor
nível de constrangimento ou de liberdade. Nessa perspectiva, podemos encontrar
variações teóricas, desde uma ótica funcional-estruturalista (Durkheim 2015) – na qual
se pressupõe a existência, nas cidades, de indivíduos mais autônomos e elevado grau de
solidariedade orgânica – até um ponto de vista formista/construcionista e
interacionista, como assumiam respectivamente Simmel (2006) e Goffman (1989);
nestas últimas perspectivas, é assumida uma maior liberdade no mundo urbano,
contrariamente a determinados regramentos, que estariam implícitos na vida rural.
Numa segunda interpretação clássica, o foco estaria direcionado a evidenciar, nessas
transições às cidades, processos de racionalização e burocratização, na perspectiva de
Weber (1994, 1987), ou de alteração de relações de dominação quando ascende uma
classe burguesa, substituindo uma elite agrária tradicional. Ainda numa terceira visão –
que denota um ponto de vista marxista –, a nova vida na cidade daria margem à
intensificação da divisão social do trabalho e à complexificação da sociedade, fazendo
surgir um contingente populacional desenraizado, explorado e moralmente
empobrecido. Em qualquer uma dessas interpretações, o movimento gradativo de
migração às cidades, mesmo que com trânsitos à “roça”, nos sugere a decomposição do
campesinato, como efeito “da modernidade”, representada, por exemplo, pela
mecanização agrícola. Algo similar poderia ser apreendido, também, das correntes
teóricas liberais. Num sentido oposto, entretanto, a observância dos trânsitos entre a
“roça” e as cidades, particularmente os seguidos retornos à primeira, remonta àquela
visão chayanoviana de que há sempre um processo de adaptação e resistência detrás
dessa movimentação, na direção de, invariavelmente, se manter os modos de vida
camponeses ou rurais (cf. Carvalho 2014).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
79
7 Esses pontos de vista teóricos, de modo geral, pressupõem forte dicotomia entre rural e
urbano e remontam aos esforços analíticos de Ferdinand Tönnies (1957), quando este
esboça uma diferenciação entre comunidade (a “roça”, no nosso caso), marcada pelo
“interconhecimento e pela afectividade, pelos contatos personalizados e pelas relações
primárias face a face” (Silva 2012: 216), e a sociedade, por sua vez caracterizada pelas
“relações transitórias e impessoais, segmentarizadas e contratuais” (Silva 2012: 216).
Seja Tönnies ou qualquer um de uma lista extensa de autores reconhecidos nas ciências
sociais (cf. Silva 2012: 216-222), encerram por construir uma dicotomia entre urbano e
rural que, ora sugere a expansão do primeiro em detrimento do segundo, ora um
processo de resistência de classes camponesas e seus modos rurais de vida,
considerados como autênticos. De forma distinta, no presente estudo, afastamo-nos
desse cunho teórico-estruturante, ou das metanarrativas, ou das tendências
homogeneizantes que estariam implícitas na movimentação entre “roça” e cidade. Não
exatamente na direção de negar em absoluto a existência de tendências de ordem
macro e seu poder estruturante, mas na de reconhecer, sobretudo, a diversidade de
possibilidades que os atores sociais podem revelar em relação à mudança social e
cultural quando residindo em um “novo” espaço.
8 Busco lançar luzes à contestação e às tentativas dos atores diversos de construir
imagens, discursos e práticas, num processo de atribuição de significado ao rural, ou
melhor, ao desenvolvimento rural, acionando representações marginais da história.
Esse processo, como veremos, exige o reposicionamento constante de atores, gerando
interfaces sociais e epistêmicas, nomeadamente, interfaces de desenvolvimento (Long
2007). Assumem-se os interesses e as coalizões em cena, como aquela expressa pela rede
à qual os contadores de histórias de vida estão ligados. Nesse sentido, a “persistência
camponesa” é expressa muito mais no âmbito da (re)construção identitária e da
reflexividade, em um mundo cheio de incertezas, ansiedades e novos signos. O modelo
ocidental de desenvolvimento (racional, legal, burocrático e produtivista) cria, com
tensão e conflito, subalternos (Escobar 2005), mas não sem capacidade de
reposicionamento, inclusive dos conteúdos modernos, em processos de mudança social.
Nestes, não raro há a construção de margem de manobra, pelo recurso à cultura, à
imaginação (Arce e Long 2000) e ao estabelecimento de conexões. Também, observa-se
a produção de imagens e narrativas de desenvolvimento dando significado à vida das
pessoas.
A vida na “roça” memorada
9 O tempo vivido na “roça” é ora lembrado como tempo difícil, de escassez e
“dificulidades”, ora tido como tempo de saúde e harmonia entre vizinhos e parentes. Na
memória, a “roça” apresenta-se como local ainda “pré-moderno”, desprovido de
energia elétrica, onde se lava roupa no rio, se põe sela no cavalo para locomoção, se faz
óleo de mamona para queimar em candeias, se fia para fazer roupas. Lá na “roça”
passada, mas vivida, as informalidades civis tomavam o espaço do documento, da
certidão de nascimento; extremas eram as dificuldades de locomoção para as cidades. A
“roça” é memorada, sobretudo pelos mais velhos, pelas escolas rígidas, da palmatória e
dos “argumentos”.4 Mas não por escolas em abundância, pelo contrário: em contexto
onde quase tudo se aprendia com os pais, a escola era tida como coisa para poucos, e a
aplicação de castigos nesse espaço era prerrogativa de alguns. Escola na “roça” era
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
80
quase nunca “arte” para meninas. Fazendeiros, sendo “chegados” ou não, podiam
prover o ensino “público”, a escola, dando vazão àquela famosa indistinção entre o
público e o privado (Martins 1994). Eram os mesmos fazendeiros de quem se
compravam alimentos em situação eventual, geralmente em troca de trabalho.
10 A “prosa” sem tempo – para acabar – e o tempo sem “prosa” compunham o cotidiano
dos que ali viviam. Eram as “prosas” para as quais, com o intuito de viabilizá-las, se
percorriam distâncias longas: prosas dos amigos, dos “chegados” e parentes (Cerqueira
2010), com quem eram estabelecidas relações de solidariedade e reciprocidade
(Sabourin 2009). Apesar das distâncias, a vida comunitária se realizava e era sempre
atualizada nas festas, muitas das quais também proporcionadas por fazendeiros: era,
em geral, a “época das fazendas”, em que se estabeleciam relações de dependências
com estes, inclusive da cessão de terras para a moradia e trabalho de “agregados”.
Ainda assim, é uma época tida como de “liberdade” – expressa em termos de “sentir-se
à vontade” –, de se andar sem “perigo”, de se mudar com frequência para procurar
lugar melhor (terra melhor, “patrão” melhor, parente para apoio, trabalho, enfim…). 5 A
“roça” é memorada como espaço “com mulher”, com maiores possibilidades de
estabelecimento de relações amorosas (a despeito do atual contexto de masculinização;
cf. Weisheimer 2005), espaço para se namorar sem explicitar, para se casar e constituir
família extensa (terra de muitos parentes, de ser fácil cuidar das crianças), terra da
religião forte e regradora em termos de segurança.
11 Apesar das relações de ajuda que eram ali estabelecidas, não raro a “roça” era local de
se flagrar dificuldade na alimentação; terra também de fome, porque se vivera a “época
das fazendas” e, igualmente, seu declínio.6 Logo, a “roça” sempre fora espaço de muitas
agruras, de ser comum morrer cedo, porque as intempéries de lá nem sempre recebiam
a esperada proteção divina, tampouco remédios e médicos. Estes últimos, havendo-os,
eram esparsos e raros. Em ocorrendo mortes, faziam-se roupas de enterro, pelas
mulheres, ao passo que se faziam caixões aos mortos, pelos homens, em grupo. A
solidariedade e a reciprocidade eram mesmo formas de lidar com a “roça”: para a fome,
doavam-se alimentos; para os machucados, faziam-se curativos.
12 Quase tudo o que se precisava na “roça” tinha de ser feito ali mesmo. Iniciava-se pelos
itens de vestimenta e alimentação, incluindo a animal. Mandioca era sempre plantada
para fazer farinha; cana, para tocar o engenho e fazer rapadura e açúcar,
eventualmente cachaça; feijão e milho eram plantados para serem comidos ou trocados
por itens essenciais, tais como as ferramentas para o trabalho; do milho cresciam
alguns animais. A “roça”, para muitos, era terra de feijão; para outros ainda continua
sendo. Algum gado próprio, pouco, havia, e se tinha que cuidar para reproduzir e
garantir algum leite. Assim, com tudo a se fazer, constituíam-se vidas de trabalho
precoce, desde a infância; esta se desdobrava paralela ao ofício de se aprender as coisas
que tinham que ser feitas – essa seria a origem de habilidades manuais hoje
ressignificadas enquanto “artesanato de tradição”. Às crianças não lhes restava tempo
muito, que sobrasse às brincadeiras abundantes, tampouco havia recursos para a
compra de brinquedos. A “roça” era, então, espaço dos brinquedos feitos à mão, com
hastes de folhas de buriti (Mauritia flexuosa) e bonecas feitas de sabugo de milho,
vestidas com retalhos costurados com espinhos de tucum (Astrocaryum huaimi). Às
crianças ocorria de brincadeira e labor se misturarem: se aprendia a costurar, a fazer
“artes”.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
81
13 Na vida adulta, o trabalho era em boa medida voltado “pra fora”, à “empreita”, “pro
fazendeiro”. As vidas de Lauro, de Dona Laurinda (e de seu marido à época) e de Seu
Antônio Maria eram fortemente dependentes dos trabalhos ofertados por terceiros: em
tempos mais antigos, por fazendeiros, e, mais recentemente, pelas “firmas”. E se a
oferta de trabalho “mudou de dono”, o costume e a necessidade de se fazer quase tudo
o que se consumia também foi mudando, aos poucos. A industrialização não chegara na
“roça” à “época das fazendas” e “firmas”, mas seus produtos lentamente começaram a
aparecer, eram percebidos mais disponíveis, algo que ocorria em paralelo à expansão
das relações trabalhistas capitalistas (Martins 1991). Assim, a “roça” foi espaço também
de se viver transições: viveram-nas todos os narradores de histórias de vida.
14 A vida de trabalho na “roça” impunha intempéries ao corpo, marcava-o. O mesmo
corpo que ficava privado de cuidados médicos e estéticos: em suma, aquele corpo que os
denunciava enquanto viventes da “roça” (Bourdieu 2006). O modo de vida dali era,
então, calcado no corpo físico, moldado como que em resposta à vida de agruras, “de
vida difícil” [Dona Maria]. A “roça” era penosa às mulheres que ora realizavam o
trabalho doméstico e cuidavam dos filhos, ora o dividiam com o trabalho da lavoura,
particularmente nas frequentes ocasiões em que os maridos saíam em busca de
trabalho fora, nas fazendas (principalmente até a década de 1960), nas “firmas” (a
partir da década de 1970) ou nas fazendas “modernas” (mais recentemente). O trabalho
“pra fora” podia, de outro modo, estar vinculado à feitura do carvão a partir do
cerrado, carvão que, na transição, já era demandado por siderúrgicas engajadas no
processo de modernização de Minas Gerais e do Brasil.
“Fui morá cos meu minino, trabaiá, daí… eles que tinha dez anos já começo trabaiá
também mais eu, na firma, plantando eucalipto, dano combate ni furmiga,
intoxiquei […] e dano combati ni furmiga com veneno. Intoxiquei com veneno,
quase eu morro e o neném morre […] eu trabaiei um dia, e no outro dia eu num
guentei não, aí me tiro do combati e pôis eu lá pru vivêro, pra plantá” [Dona
Laurinda].
15 Assim como observou Brandão (1999) no interior paulista, na “roça”, homens e
mulheres assumiam papéis diferentes. Inclusive, a “roça” é apresentada diferentemente
entre homens e mulheres. Se para o homem a “roça” é sinônimo de “dificulidades” por
causa do trabalho com os roçados e nas “empreitas” – porque “seria ele” quem acabava
por trabalhar pesado –, a mulher, ao representar tais dificuldades, as associa à
sobreposição de tarefas múltiplas, dentre as quais as domésticas, e à condição de,
muitas vezes, estar subjugada ao marido. Tal condição, no entanto, foi frequentemente
relatada a partir de uma imagem naturalizada da condição da mulher ali, como que
exercendo um papel: o de mulher da “roça”. Desta feita, a “roça” não era espaço, à
época, de mulher trabalhar “pra fora”, de beijar homens ao cumprimentá-los, de
participar de folias e, até, de criticar o marido em ocasiões de adultério descoberto –
apesar de que os adultérios aparecem mais associados à vida já nas sedes municipais. Às
mulheres, a “roça” se apresenta, em geral, como espaço de vida com marido.
16 A situação da mulher na “roça”, e na transição para as sedes municipais, é relatada
como sendo desprivilegiada. Em parte porque tiveram que enfrentar, na transição, os
alcoolismos dos maridos e, frequentemente, maus-tratos e violências domésticas por
parte destes, sem direito a reclamação. Daí que os problemas de depressão atuais,
identificados e relatados, aparecem vinculados, grosso modo, às mulheres que, com
alguma ênfase, acabam por associar “roça” a baixa autoestima. “A gente tinha um
sistema que era assim, era um sistema esquisito que a gente tinha. Se a gente fosse
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
82
aproximar de uma moça e beijasse ela, não servia pra casar com a gente não… era um
trem esquisito, era diferente […] Tinha umas que namorava pelo buraco da parede…”
[Antônio Maria]. A condição de mulher na “roça” era experienciada logo nos primeiros
anos de adolescência, quando o olhar atento – e a atitude – do pai se revelava. Pai –
homem – a quem não se contrariava facilmente, dadas as sanções implícitas ao ato. Pai,
ou avô, de influenciar casamento para a filha não ficar “encalhada”. Marido, homem, de
inibir certas experiências de liderança comunitária e de autoafirmação.
17 As festas e folias eram – e ainda são – eventos sociais marcantes e estabeleciam a
ligação entre o mundo do trabalho, o campo da religião e os relacionamentos amorosos
e matrimoniais. As “festas de missa” e as “festas de banquete”, oferecidas pelos
fazendeiros (Souza 2000), complementavam as folias e as “farras” da “roça”. Estas
últimas podiam marcar momentos de trabalho comunitário, de colheita, de plantio,
entre outros. Como as “festas de engenho” que marcavam o trabalho com a cana. Festas
em que era possível dançar até o amanhecer: dançar seja o “São Gonçalo”, em ocasião
de pagar promessa, seja a “caninha verde”, o “tamanduá”, o “carneiro”, o “batuque”
(“danças de roda”), o “forró”, seja a “catira”, o “lundu” e o “quatro” (danças profanas
desempenhadas nas folias), entre outras. Tudo isso e muito mais se dançava na “roça”,
de modo a compor fortemente as vidas memoradas. Foram tempos de folias e danças
com rabecas, violas, violões, pandeiros, cavaquinhos, caixas e muita cantoria. Tempo da
zabumba, da sanfona e do triângulo, tempo de “jogar versos”… Em boa medida essas
danças podem ser presenciadas ainda hoje na “roça”; entretanto, percebem-se, em
geral, alguns deslocamentos, a exemplo das “danças de roda”, que parecem não mais
ser significadas enquanto momento de paquera.
“As diversão de lá era assim, quando era nessa época de moagem, engenho, eles
pegava, juntava duas, três famílias, e trabalhava tipo assim, de uma comunidade,
como cê tava falando: todo mundo junto. Aí ia fazer farinha, ia fazer moagem, e ali
todo mundo trabaiando junto. A noite era uma festa! [com entusiasmo] […] Era um
trabalho muito bonito. E se tem uma coisa que eu guardei, assim, que a gente ia
todo mundo, assim, trabalhava, tinha aquela turma que torrava, tinha a turma que
rapava, tinha a turma que tirava porvilho, tinha a turma que rancava as mandioca,
tinha a turma que ia carrear… […] Aí quando era noite todo mundo terminava,
quando terminava aquilo tudo, aí fazia uma foguêra, aí tinha ali o violão, tinha a
sanfona, todo mundo ia dançá, cantá […] tinha dança de roda… mas eu não
participava, que aí já vem a burocracia de um sinhô di idade [seu avô, que a cuidava]
que não poderia deixá uma jovem, como dizia ele, ‘num era a minha filha’ […], tinha
forró. Agora no forró ele deixava dançá [porque o avô podia ficar por perto]”
[Joaquina].
18 Essas danças (principalmente) e “festas de santos”, e também as folias, eram ocasiões
privilegiadas para que rapazes e moças burlassem a vigília do pai austero. As danças
constituíam momentos únicos de o rapaz pegar na mão da moça, e, em eventual
interesse de “namoro”, apertar sua mão com intensidade exata para estabelecer a
paquera. A relação amorosa dita “namoro” podia, então, ser determinada na própria
festa, momentos depois da dança, por meio de conversa. Em estabelecido o “namoro”,
beijo, abraço ou aperto de mão não havia. Daí que, em grande medida, as histórias
narradas foram forjadas nas “danças de roda” da “época das fazendas”. Dessas rodas
derivaram casamentos diversos, assistidos por sanfoneiros que não se furtavam a
prover a animação geral da festa. Eram festas onde se bebia menos, a despeito da
abrangência do uso do álcool como instrumento de socialização nas festas atuais.
“Os rapaz jogava verso pra gente, pras moça, desafiando a gente, jogava os verso, aí
a gente sabia [que eles estavam a fim]. Aí a gente jogava os verso pro rapaz também.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
83
Era nos verso e nas dança que a gente conquistava namorado e [eles] conquistava a
gente”. [Dona Laurinda]
19 Foi assim que muitos matrimônios foram tecidos e famílias constituídas. Famílias que
acabavam por reproduzir as formas de solidariedade, reciprocidade e o modo de vida
“livre”, árduo e desmaterializado em termos financeiros; que viviam, em geral, no
contexto das “fazendas”.
20 Instauravam-se, gradativamente, os tempos modernos, regidos pelo advento das leis
trabalhistas e pela desagregação subliminar das pessoas dali, porque a permanência de
“agregados” nas terras de fazendeiros deixavam-nos em situação de dívida trabalhista
para com os primeiros. Assim, a continuidade na “roça”, naquele momento, dificultava-
se pela ausência, por parte dos “agregados”, dos títulos de posse de terras que, até
então, pareciam abundantes. Assim, destaco a relação que há entre “a terra já não tava
dando”, causa disparadora da evasão apontada, e o rompimento do vínculo com os
fazendeiros. A razão que desencadeou a gradativa saída da “roça” não esteve reduzida à
mera disponibilidade de terras para a moradia e o roçado, mas envolveu a própria
relação de tutela com o fazendeiro e, também, a exigência da abundância de terras,
porque o gado complementar ao roçado era criado em sistema bastante extensivo, em
regime de baixa pluviosidade. Os “roçados”, sozinhos, parecem não ter sido suficientes
para a sustentação das famílias na “roça”, ademais a implantação de monoculturas teria
feito ocorrer ali “pragas” antes não vistas nesses roçados. De qualquer forma, as
motivações de saída da “roça” e ida para as cidades e capitais, discursivamente, foram
diversas.
21 Segundo Lauro, as mulheres foram todas trabalhar em “Brasília”. 7 Lauro saíra em busca
de trabalho com o tio em Brazlândia (vizinha a Brasília); queria, nessa experiência,
comprar instrumentos musicais, porque era muito ligado às “farras” em sua
comunidade. Dona Maria saíra por conta de doença sua e de um dos filhos, e seu filho,
mais adiante, fora a “Brasília” para trabalhar e conseguir comprar um teclado. Dona
Laurinda e muitos outros saíram das “roças” porque a família estava passando
necessidades, e fome: “Não tinha nem café para tomar!” Seu Antônio Maria saíra da
“roça” para garantir estudos aos filhos; afinal ele, à época, tinha fixação por essa ideia.
Aproveitou-se da grande enchente de 1979 e fez dela justificativa para iniciar a
resolução de uma mudança que lhe parecia latente. À época da saída de Seu Antônio
Maria, era forte a circulação de valores positivos acerca das cidades, envolvendo
questões educacionais, de saúde e de trabalho, ao passo que, em paralelo, havia sido
construída uma imagem pejorativa sobre a vida na “roça”, intensamente midiatizada
até a década de 1990. “A gente mudou prum lugar chamado Pernambuco, pertinho de
Buritis [cidade próxima], roça também, e ficou bem pertinho, porque dizia que era onde
tinha serviço, né, e também tinha mais acesso à cidade, pra poder levar minha mãe pra
tratar” [Joaquina].
22 Havia, por parte de muitos, a percepção de uma época transitória. No caso de Seu
Antônio Maria, o provimento de estudos aos filhos parece ter ascendido a uma espécie
de demanda familiar, à medida que avançou sua percepção acerca da falência de um
dado sistema agrário associado a um modo de vida particular, da “roça”. Além disso,
havia a circulação de valores que taxavam a “roça” e o agricultor como espaço e
profissão menores, respectivamente. Esses valores, desdobrados em conjuntura social
crítica, pareciam emanar mensagens claras de busca de uma vida melhor em “Brasília”
– algo favorecido pelo fato de os destinatários dessas mensagens serem pessoas cujo
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
84
hábito de se deslocar estava fortemente ligado à cultura, no “movimento” (Andriolli
2011; Cerqueira 2010). No caso dos contadores de histórias de vida, Arinos estava no
caminho de Brasília. Em 1980, muitos da “roça” já residiam na sede de pequenos
municípios, como Arinos, ou em capitais, como Brasília.
“Parece que o sentido da gente é o contrário, em vez de a gente ir pro rumo do
entrar do sol, em vez de a gente ir pro rumo do sair [do sol], a gente ia pro rumo do
entrar… Parece que a gente achava era assim, se nóis lá pro rumo do Urucuia
[vizinha a Arinos], lá nonde a gente morava, pra lá da cidade de Urucuia, se fosse
pra gente tocá pra lá pro rumo de São Francisco [oposto a Brasília], parece que tava
o contrário, parece que tava indo pro lugar errado, não sei que que era […] Você
pode assuntar que desse pessoal daí, poucos é que mudou pra São Francisco. Não sei
se por que é que criou Brasília [eu havia sugerido], eu acho que é por isso. A gente
achava que era no rumo de Brasília. Se por acaso aqui não desse certo eu tinha meu
pessoal, já morava em Brasília” [Seu Antônio Maria].
Chegada à sede municipal: reposicionamento
23 As chegadas à sede municipal de Arinos não constituíram, em geral, tarefas fáceis.
Tampouco o foram nas capitais, particularmente, “Brasília”. O retorno intermitente à
“roça” ou à própria sede de Arinos – no caso de a mudança ter sido realizada para as
capitais – passou a ser indicador das dificuldades diversas enfrentadas nos novos
espaços de residência. Se nas capitais as dificuldades financeiras eram amenizadas pela
disponibilidade real de trabalho, em Arinos, não sendo o trabalho conquista imediata
de recursos financeiros suficientes, aos novatos eram impostas condições bastante
extremas no que se referia à base material. “A chegada aqui [em Arinos] foi meio cruel,
viu, não tinha nem lugar de morar”, disse-me Lauro em uma de nossas conversas.
Chegara com a família e ficaram na casa de um tio da esposa, provisoriamente. Dona
Laurinda e sua família, dada a condição de descapitalização extrema em que se
encontravam na “roça”, concluíram a primeira mudança para Arinos somente após
longa tentativa: tiveram que vender um saco de milho e outro de feijão. Não dispondo
de gado que pudessem vender, tal troca significava investimentos expressivos para
quem, almejando mudança, se deparava com situação financeira pouco propícia.
24 Seu Antônio Maria, em relação à mudança para Arinos, disse-me: “Aí nesse tempo eu
num fichei. Mas se eu tivesse fichado [conseguido o emprego no Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG], nesse ano eu num tinha ficado não,
porque eu não conhecia ninguém”. A importância, nesse caso, de se conhecer alguém
era devida ao fato de o pagamento no DER, naquela época, demorar noventa dias para
ser efetuado, a partir da data de ingresso. Em assim sendo, Seu Antônio Maria não teria
condições de manter a família durante três meses sem salário, algo que demonstra o
elevado grau de descapitalização em que viviam as pessoas da “roça”. À época, em
geral, não havia dinheiro suficiente sequer para o deslocamento de ônibus até a sede
municipal, transporte que podia ser empreendido a cavalo, durante alguns dias. Assim,
revela-se a importância, e até a centralidade, de se conhecer alguém para um amparo
emergencial na sede municipal.
25 A condição de escassez material extrema em que vivia a maioria das pessoas da “roça”
dava margem para que a chegada à sede municipal pudesse soar como um verdadeiro
fracasso. Dona Maria, estando já deprimida e com um dos filhos doente, ao ter que
enfrentar a mudança com a família, chegou a ser expulsa da casa do pai, em Arinos,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
85
tendo que ficar na rua, por não dispor, ali, da rede de ajuda e solidariedade à qual se
acostumara na “roça”. O resultado, no caso, foi o agravamento de seu quadro
depressivo, quadro este que se estendeu por muitos anos. Chegavam os da “roça”
muitas vezes sem conhecer ninguém e deparavam-se com condições assaz
desfavoráveis ao emprego. No caso de Dona Maria, e outros, a solução imediata foi o
trabalho em fazenda próxima, às pressas, o que acabou por lhe garantir residência. Não
é sem razão, então, que a chegada de todos os contadores de histórias de vida tenha
sido marcada por privações financeiras extremas (ver figuras 1 a 5).
Figura 1 – Linha temporal resumida da história de vida de Dona Laurinda (1941-2013)
Fonte: elaborada pelo autor.
Figura 2 – Linha temporal resumida da história de vida de Lauro (1971-2013)
Fonte: elaborada pelo autor.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
86
Figura 3 – Linha temporal resumida da história de vida de Joaquina (1956-2013)
Fonte: elaborada pelo autor.
Figura 4 – Linha temporal resumida da história de vida de Dona Maria (1957-2013)
Fonte: elaborada pelo autor.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
87
Figura 5 – Linha temporal resumida da história de vida de Seu Antônio Maria (1941-2013)
Fonte: elaborada pelo autor.
26 Não preparados para aquela situação – ao que parece, tinham as redes de solidariedade
naturalizadas no tempo e no espaço –, enfrentavam os trabalhos considerados piores
em um contexto de oferta de trabalhadores relativamente alta, o que pressionava
negativamente as remunerações e degradava a condição laboral (esse seria um dos
sinônimos do “não haver trabalho”, tantas vezes mencionado), em contexto desprovido
do acolhimento de amigos e parentes. Muitos, talvez por essa razão, mantiveram
vínculos diretos com espaços da “roça” durante muitos anos após a chegada, ainda que
residissem “oficialmente” em Arinos. Daí que, na maioria dos casos, fica difícil inferir a
residência como tendo sido na “roça” ou na cidade (ver figuras 1 a 4). “Minha vida aqui
na cidade foi, foi […] não é só de rosas não. Não foi fácil não, Gustavo […]. Muitas coisas
que eu não tinha coragem de fazer, depois que eu mudei pra cá que eu fui obrigado a
fazer”, disse-me Antônio Maria.
27 A situação da mulher à época, com um papel que nos aparece submisso e
sobrecarregado de tarefas, é apresentada nas histórias de vida como sendo mais
extrema ainda. A nova vida na cidade impunha rearranjos sociais, econômicos, laborais
e psicológicos que muitas vezes produzia alcoólatras: os maridos. Novos sujeitos
“cantarolantes” (Dona Maria) e agressivos (Joaquina) com quem as mulheres passavam
a ter que lidar, em acréscimo ao conjunto de problemas que já enfrentavam. Ainda, se
na “roça” as possibilidades de encontro entre homens casados e outras mulheres eram
regradas pelas distâncias físicas, pelo trabalho e pelo jugo moral de parentes e amigos,
na sede municipal, em situação comum de não trabalho, tais possibilidades
modificaram-se, com “privilégios” aos homens, que geriam financeiramente a família e
tinham a prerrogativa de não ter que se justificar às esposas. Em contraposição irônica,
o comportamento de ciúme dos maridos, uma vez posicionados na sede municipal,
parecia se engrandecer e dotá-los de grande poder viril. Sendo ou não essas as razões,
coincide que as mulheres experimentaram depressões (figuras 1, 3 e 4) a partir da
chegada na sede municipal, às vezes por períodos prolongados. Algumas separações
ocorreram, de forma definitiva (figura 1) ou temporária (figura 3), impondo-lhes novos
desafios.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
88
“Aí, eu fiquei uns dois, uns dois anos ou foi três anos, cumendo aquelas migarrinha
que ele mandava. Se ocê chegasse em casa, chegasse uma visita na minha casa, eu
num tinha direito de dar nem um gole de café, porque se cabasse antes do dia que
ele marcava nóis ficava aqui sem, que ele não mandava. Era prazo marcado.
Depois fizeram uma coisa lá pra mim [na ‘firma’ da Serra das Araras] que eu larguei
tudo quanto foi sereviço, eu já tava nas esmola, acho que era inverno. Aí meu fio,
quando eu vi o povo chegando […]. Quando eu via uma pessoa chegá lá na porta da
frente me chamano, eu curria. Com medo de sê sereviço [querendo dizer que não
queria prestar serviços] […]. ‘Gente o que é que tá acontecendo com [Laurindinha]
[dizendo que as pessoas falavam dela], porque ela nunca foi de rejeitá sereviço’. No
domingo, final de semana, é… todo mundo tava na farra e eu lavando rôpa. E aí, mas
não era, mas não era porque eu tava com preguiça, eu tava vendo a estrada de eu
passá fome mais meus filho, mas num tinha coragem… de trabaiá […]. Eu sei que o
negócio pra mim foi feio” [Dona Laurinda].
28 Para além das privações e das dificuldades familiares decorrentes da diferença sexual, a
vida na cidade grande – em maior grau – e na pequena sede municipal parecia
aprisionar a “liberdade” dos “neourbanos”. E havia também a questão da sensação de
“perigo” que pairava no ar, talvez pelo estranhamento que se colocava aos recém-
chegados, a exemplo do bairro Crispim Santana, em Arinos, que abrigava frequências de
brigas e alcoolismos até então desconhecidas. O “perigo” das ruas era contraposto à
“segurança” do tédio nas casas. Espaço enclausurante sobretudo aos casados, para
quem, na cidade, cuidar dos filhos constituía, de modo inédito, tarefa difícil.
29 Assim, aspectos naturalizados da vida na “roça”, mediados pela saudade e agruras
enfrentadas na cidade, passaram a ser percebidos diferentemente. Teria sido um
processo de “consciência identitária”, dado o reconhecimento mais intenso e crônico
do modo dos “de fora”? Lauro, por exemplo, antes de constituir família, tentou a vida
em Brazlândia. Mas voltava à “roça” intermitentemente, para as “farras” com os
amigos, também para tentar um relacionamento amoroso. Na capital, lembrava-se da
“roça”, como se as relações de proximidade, vizinhança e interconhecimento lá
desenvolvidas – e percebidas “em Brazlândia” – pudessem compensar os regramentos e
impedimentos para se estabelecer relacionamentos amorosos. A chegada à sede
municipal, dessa forma, não significou a ruptura completa com o modo de viver na
“roça”. Muitos dos que a deixaram como local de residência, ao se depararem com a
vida da cidade, voltaram a ela após curto período. Somente mais adiante é que
conseguiram se estabelecer definitivamente (figuras 1 a 4).
30 As próprias pequenas sedes municipais, a exemplo de Arinos, mantiveram – e em algum
grau ainda mantêm – traços que remetiam à “roça”. A energia elétrica apenas ficou
disponível à maioria da população em 1986 (Antônio Maria). Ali mesmo era local de
caçar tatu, de aparecerem filhotes de ema perdidos, de abertura de pequenos roçados
de feijão ou mandioca. Era local, inclusive, de revisitar antigos esquemas de trabalhos
comunitários. A “roça”, assim, está um pouco localizada, ainda hoje, dentro da própria
sede municipal (Wanderley 2009). Se foi necessário aguardar Seu Antônio Maria chegar
da “roça” para entrevistá-lo uma primeira vez em Arinos, foi preciso também ir ao
encontro de Dona Maria em um espaço coletivo reservado à atividade de ralar
mandioca, localizado no bairro Crispim Santana, muito próximo à residência de sua
família. A casa de Dona Maria, de outro modo, constituía espaço de feitura de
artesanatos: local onde seu marido gasta tardes confeccionando peças e artefatos
diversos com taboca. Fabrica principalmente cestos, com tabocas colhidas na “roça”. Já
Dona Maria se ocupa, simultaneamente, da arte de fazer tapetes de retalhos: em sua
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
89
residência na cidade, ambas as artes são criadas hoje a partir de aprendizados e
aperfeiçoamentos desenvolvidos na época em que residiam e trabalhavam na “roça”.
31 De modo não muito diferente, Lauro sempre buscou mostrar seus artesanatos nas
ocasiões em que visitei sua residência, confeccionados com retalhos de madeira. Em
geral, tratava-se de brinquedos para crianças, cujas técnicas de construção e valores
associados seguiam princípios adquiridos na “roça” já havia muitos anos. Acessar esses
contadores de histórias de vida, então, foi o mesmo que deparar-me, em parte, com
aquele cotidiano. Não apenas pelo conteúdo das falas, mas pela qualidade das práticas
observadas, nestes casos dispostas no campo artístico-cultural. Desta feita, os modos
praticados na “roça”– em grande medida desenvolvidos em contextos onde a compra de
artefatos diversos (roupas, brinquedos, enfeites, tecidos em geral, etc.) não era sempre
possível, seja pelas distâncias a serem transpostas e/ou logística complexa necessária à
obtenção, seja pelo modo de vida relativamente descapitalizado – compõem parte da
vida cotidiana da cidade.
“Pode-se mesmo aventar a hipótese de que, em muitos casos, o morador do campo,
que se transfere para a sede municipal, não muda, necessariamente de ‘lugar’, do
ponto de vista sociológico, isto é, ele pode continuar integrando o mesmo mundo
restrito de relações de interconhecimento. Com efeito, a sociedade rural não se
esgota no pequeno espaço propriamente rural, mas se espalha pelas pequenas
cidades que não só lhe servem de apoio político-institucional, como também
constituem um quadro complementar de vida” (Wanderley 2004: 93).
32 O que diz Wanderley, acima, adquire, porém, outro significado, no sentido de que o
observado em Arinos não aparece exatamente como “um quadro complementar”. Dadas
as distâncias, a irregularidade dos transportes e a dificuldade de se acessar as redes de
interconhecimento estabelecidas na “roça”, muitas vezes, o quadro complementar é
apresentado mesmo como um novo quadro, do ponto de vista espacial e relacional. Se
as redes de interconhecimento estabelecidas na “roça” não mais puderam ser
facilmente acessadas, novas redes foram tecidas, em interação com outros moradores
da cidade – interação agora mediada por um conjunto de valores ampliado, incluindo
aqueles usados para desenhar imagens pejorativas daqueles que chegam da “roça”.
Também, considerando agora a cidade grande, adentramos, inevitavelmente, a questão
da transmutação do sertão (“roça”) às capitais (Melo 2011), ocupando suas periferias e
favelas. Ou seja, nesses casos, modos “da roça” são alocados significativamente no
espaço tido como urbano, de modo a compor a capital. Nesses espaços
“metropolitanos”, os residentes encerram por assumir postos de trabalho tidos como
subalternos (também porque assumem apenas estes postos e não outros). Nessa
perspectiva, tanto nas capitais quanto nas pequenas sedes municipais, foram
percebidos períodos tidos pelos contadores como discriminatórios (figura 3). A
problemática iniciava-se ainda na “roça”, quando, momentos antes da mudança, a
preocupação com as vestes a serem mostradas na cidade ficava eminente (Dona Maria;
Joaquina).
“Mas o povo aqui [Arinos] era ingrato demais, meu filho… De primêro, o povo aqui
era ruim, eles num dava hora pra pobre não, aqui era carrasco. Hoje? Hoje eu vô falá
procê que mudô cento porcento, que hoje as pessoa, hoje os rico vê a gente, né, e dá
mais atenção pro pobre, né, mas de premero…” [Dona Laurinda].
33 Essas informações, entre outras, suscitam a circulação de imagens negativas daqueles
que chegavam da “roça”, inclusive entre os próprios familiares e conhecidos já
estabelecidos nas cidades (figura 4), como foi o caso de Joaquina, entre tantos outros:
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
90
“Aí, veio uma senhora fortona, era a mãe dele [do rapaz de Arinos que pretendia
namorá-la], ela é morena igual eu, mas ela parece que achava que ela era branca. Ela
chegou ni mim e falou assim: ‘Ô sua traíra preta, eu quero que ocê volta do mesmo
lugar que você saiu, não quero você perto do meu filho’. E ela nem me conhecia. Ela
conhecia minha vó, que ela era vizinha da minha vó” [Joaquina].
34 Nos dias atuais, passadas décadas da primeira tentativa de mudança à cidade, a situação
já não é mais a mesma. A condição de vida na sede municipal de Arinos é percebida não
sem “tédio” e “perigo”, mas com determinadas amenidades, tais como os acessos
facilitados aos sistemas de saúde e educação. A antiga autossuficiência da “roça”, à luz
do processo de expansão da industrialização e do capitalismo modernos, e da nova
configuração de divisão do trabalho, foi substituída pelas compras, nas quais, no caso
dos mais velhos, figuram significativamente as aposentadorias. De fato, não há mais a
necessidade de se torrar café, pilar arroz, ralar mandioca no ralo manual ou “pegar
água na lata”. Segundo os mais velhos, até as possibilidades de se estabelecer relações
sexuais e/ou amorosas ficaram facilitadas aos jovens.
Do trânsito ao recente campo artístico-cultural
35 A apreensão das características do trânsito – palavra que uso para representar o
processo de “movimento” por dentro da dinâmica migratória – pode ser feita em
entrelace com o entendimento da emergência de um campo artístico-cultural no
território que circunda Arinos. A despeito das dificuldades vividas na “roça” e das
restrições financeiras e distâncias físicas percebidas na cidade (em relação a ir até a
“roça”, revisitá-la), as épocas de folias constituíram, ininterruptamente, ocasiões de
regresso às origens: uma peregrinação anual por meio da qual se podia empenhar uma
espécie de atualização identitária; podiam-se reviver aqueles laços de solidariedade e
relações de interconhecimento a que outrora os contadores flagraram-se acostumados.
Dona Laurinda e Lauro, por exemplo, jamais deixaram de retornar às folias: são hoje,
inclusive, “imperadora” e “imperador”, respectivamente, de grupos de folia de Arinos. 8
“Morei 28 anos em Brasília, mas nunca perdi uma folia” [Dona Laurinda]. Não raro,
esses regressos compuseram eventos de investimentos afetivo-amorosos por parte dos
que já viviam nas cidades e capitais. De modo geral, parte grande dos integrantes dos
“ternos de folia” de Reis dali reside hoje em São Paulo, “Brasília”, etc.
36 É a partir do acontecimento das folias, sejam estas realizadas na “roça” ou na cidade,
que nos remetemos uma vez mais à ideia de territórios definidos segundo a categoria
“movimento” (Cerqueira 2010; Andriolli 2011). Essa movimentação, particularmente
aquela iniciada quando ocorria a mudança às sedes municipais, introduz-nos um
importante paradoxo, que faz referência a questões identitárias, de pertencimento e de
autoestima. Aquela cultura, à qual os “da roça” estavam visceralmente ligados, era a
mesma cultura desvalorizada pelas mensagens hegemônicas que circulavam à época
dos trânsitos às cidades e capitais, porque fora construída a imagem dos modos
“da roça” como pertencentes a uma cultura menor, atrasada (Melo 2011; Wanderley
2004); atrelava-se esta cultura à imagem do subalterno, por sua vez projetada no seio da
noção de desenvolvimento, que já tinha o fôlego de ideia-força; porém, era a mesma
cultura à qual não se podia deixar de estar vinculado e que era atualizada com
frequência, a exemplo do regresso anual às folias.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
91
37 O paradoxo, no entanto, pareceu produzir reviravolta, especialmente desde 1997, data
em que Seu Antônio Maria, participando de um dos encontros de folias de Reis na
Granja do Torto (em “Brasília”), “descobriu” que o “São Gonçalo” – dança religiosa
típica no território – era considerada como sendo “cultura”. Até então, segundo ele,
pensava-se que a dança só servia mesmo para pagar promessa. “Quem dança é para
cumprir o voto, a promessa […] hoje a cultura tá muito valorizada” [Seu Antônio Maria].
Dona Laurinda, coincidentemente, participara do mesmo encontro e dissera-me algo
semelhante a Seu Antônio Maria. Segundo esses contadores, foi a partir daí que muitas
pessoas de Arinos passaram a ter contato com a “cultura de tradição” – tida em sentido
genérico como cultura popular – enquanto valor da “boa cultura”, em sentido análogo a
Canclini (2011: 205-220), quando este retrata “a encenação do popular”. Culminou que,
particularmente desde o ano 2000, o “São Gonçalo” e as folias passaram a ser
apresentados com maior intensidade, em ocasiões diversas, compondo festivais e
encontros culturais da região (figura 6), mas não apenas.
Figura 6 – Seu Antônio Maria, “guia de São Gonçalo”, dançando no XII EPGSV, Chapada Gaúcha,
2013
Fonte: acervo do Instituto Rosa e Sertão; foto de Leo Lara, editada pelo autor.
38 Os principais eventos artístico-culturais de “cultura de tradição” da região – em que se
apresentam agentes tais quais os contadores de histórias de vida e grupos de “cultura
de tradição” em geral – são o Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas (EPGSV), de
ocorrência anual em Chapada Gaúcha (vizinha a Arinos), e o Festival Sagarana, de
ocorrência também anual em um distrito de Arinos. Estes encontros inscrevem-se no
âmbito das ações daquela rede de atores contestatórios mencionada na primeira seção.
De um modo geral, integram também o rol das ações dessa rede: a criação e execução de
alguns “pontos de cultura”;9 a condução de uma rede de produção e comercialização de
“artesanato de tradição”, em vários municípios próximos; a ocorrência anual de uma
caminhada ecoliterária de 170 quilómetros, ligando o Festival Sagarana ao EPGSV,
literalmente; a criação e manutenção de um Centro de Referência em Tecnologias
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
92
Sociais do Sertão, onde se desdobram atividades relacionadas às agroflorestas, à
produção de instrumentos musicais e de artesanatos, às bioconstruções e às práticas
artístico-culturais; entre outras menos expressivas. Essa rede de atores contestatórios
foi forjada ali a partir do ano 2000, por mediadores reconhecidos como atores da
sociedade civil que, mantendo forte articulação interpessoal, deram início a essa série
de iniciativas.
39 A relevância do EPGSV e do Festival Sagarana se dá, em grande medida, por razão de
parte expressiva das disputas por ideias de desenvolvimento na região ser travada
justamente no campo artístico-cultural. Ali as festas conformam espaços onde circulam
signos do desenvolvimento, sejam aqueles vinculados ao modelo hegemônico – a partir
dos quais se visa sustentar, por exemplo, a expansão da agricultura monocultural
mecanizada – ou aqueles manejados para dar lastro a contratendências deste modelo.
Inscritos em uma espécie de circuito regional de festas, que ocorre entre junho e
setembro de cada ano, esses dois encontros fazem contraste simbólico com as demais
festas desse circuito, porque valorizam a apresentação de grupos de “cultura de
tradição”, ou mesmo de artistas de maior renome que, de formas variadas, manejam
referências dessa “cultura de tradição”, como aquelas relacionadas às folias de Reis. Já
as demais festas do circuito são marcadas por signos da cultura de massas 10 e da
agricultura modernizada voltada à produção de commodities, assim como pela operação
de discursos populistas, a partir dos quais agentes políticos locais buscam o controle de
poderes administrativos (cf. Chaves 2003).
40 Também, de modo emblemático, em meados da década de 2000, surge o “Idade de
Ouro” (figuras 1, 4 e 5), programa social da administração pública de Arinos,
coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Surge voltado aos
idosos e calcado na ideia de “resgate” da cultura tradicional local, expressa pelas
danças, particularmente as de roda. Tal ideia ascende à pauta das ações locais sob
influência indireta e respaldo de uma rede de atores sociais contestatórios, assim como
foi dito na seção inicial. A criação da Secretaria Municipal de Cultura de Arinos em
2012, segundo o prefeito que a criou, teria sido, inclusive, consequência do sucesso
desse programa junto aos idosos e à comunidade arinense. O “Idade de Ouro”, do qual
participam Dona Laurinda, Dona Maria e Seu Antônio Maria, é colocado em evidência
como signo de uma espécie de regresso temporal – de retomada de uma “cultura de
tradição” – que outrora fora significado enquanto trânsito. Nesse sentido, essas
manifestações, as “danças de roda”, aparecem como sendo do passado, menos porque
deixaram de ocorrer e foram retomadas, e mais porque foram, em determinado
momento, iluminadas segundo novos valores. Evidentemente, que, no caso das “danças
de roda” manejadas para cortejo em ambiente regrado pelos olhares atentos do pai,
caíram mesmo em desuso. Figura, então, algo análogo ao encontro de valores apontados
por Leal:
“Tão comum que aos olhos da própria comunidade aquele é um momento de festa e
de confraternização junto aos seus, fazendo parte não de calendários de
manifestações, mas do calendário da vida social e simbólica do lugar. Isso, até que
alguém, um forasteiro, ‘o de longe’, ou ‘o de fora da comunidade’ reconheça na festa
um evento folclórico, ou mesmo turístico, e o aponte como algo dotado de um outro
significado, de um outro valor, diferentes de algo antes simbolicamente
representativo daquele povo, daquele local” (2011: 37).
41 Desta feita, vidas que estiveram recheadas de dificuldades – a saída das “roças”, o
estranhamento das pequenas sedes municipais, a vivência da distinção social
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
93
radicalizada à luz do individualismo urbano – são consagradas, em outro momento, a
partir do reconhecimento de uma “cultura de tradição”. Então, se parte das
dificuldades da vida fora pelo pertencimento a uma “cultura” filtrada tácita e
pejorativamente por muitos – a própria posição social relativa ocupada nas cidades e
capitais revelava isso –, o reconhecimento dessa “cultura”, simbolicamente, acessa uma
dimensão que vai além da espetacularização sustentada segundo valores externos,
conforme a perspectiva de Leal (2011).11 A saída das “roças” – um evento massivo e
duradouro – ergue-se como elemento central para este entendimento. Mais ainda,
compõe a memória coletiva local como uma espécie de trauma que se mostra às vezes
consciente, ora inconsciente. Em última instância, um “trauma cultural”.
42 Em ocorrendo a espetacularização no território, o que parece diferir de Leal é sua
qualidade no que se refere a “quem reconhece” e “para quem se mostra” a
manifestação cultural. À espetacularização são atribuídos significados diversos ali, para
além da exibição voltada aos “de fora”, como enfatizou Leal. Uma primeira forma de
reconhecimento é aquela mediada pelo Estado, por meio das políticas culturais
contemporâneas, que vêm sendo empregadas de forma inédita ali. 12 No plano local, esse
reconhecimento liga atores sociais, propaga uma imagem positiva acerca da “cultura de
tradição”, viabiliza a existência e circulação de “grupos culturais” constituídos e
encerra por atrair muitos admiradores. Diversos são os mecanismos públicos que
conferem reconhecimento às manifestações. Uma segunda forma, de origem mais
endógena, corresponde aos encontros de “cultura de tradição” (como o EPGSV e o
Festival Sagarana). A partir destes, em alguma medida, se viabiliza a valorização por
parte dos “de fora”, porque é acionada uma rede maior de atores reconhecidos como
movimentos sociais, além de, igualmente, se atrair público diversificado. Mas esses
encontros geram também reconhecimento por parte dos “de dentro”, porque os
manifestantes veem-se homenageados por atores locais – e reforçam com eles laços de
afetividade –, em especial aqueles ligados à rede local de atores contestatórios
mencionada no início, que, por sua vez, acaba requerendo intensa interlocução com os
“grupos culturais”. Ainda, uma terceira forma é “local-regional”, cristalizada na
inserção de apresentações de “cultura de tradição” em eventos corriqueiros, em Arinos
e em cidades próximas, que extrapolam os encontros de “cultura de tradição”.
43 No cotidiano da sede municipal de Arinos, aqueles que compõem os grupos de “cultura
de tradição”, tais quais os narradores de história de vida, apresentam-se publicamente
em ocasiões diversas proporcionadas pela prefeitura. Viajam regionalmente inclusive a
expensas de recursos municipais (transporte e alimentação). Assim, é possível flagrar
funcionários da prefeitura demandando com frequência a apresentação do grupo de
“danças de roda” do “Idade de Ouro”. Em Chapada Gaúcha, cidade vizinha, algo
semelhante pode ser observado em relação ao grupo Manzuá (da Comunidade dos Bois),
entre outros. Poder-se-ia expandir esses exemplos a outros municípios da região, ou ao
grupo de fiandeiras de vários municípios que exibe a arte de fiar cantando (remontando
à vida da “roça”). É dessa forma que aparece um significativo mercado cultural
cogerido por ex-residentes da “roça”, a exemplo de Seu Antônio Maria, Lauro e Dona
Laurinda, e por membros das prefeituras, em particular a de Arinos. Classifico-o como
significativo porque existe a oferta de grupos interessados em realizar apresentações,
ao passo que a demanda por apresentá-los é posta à mesa das negociações. Esse
mercado, no entanto, se mostra invisibilizado enquanto tal, a despeito das trocas e
fluxos existentes; apesar disso, a demanda da prefeitura é intensa e expressa na forma
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
94
de solicitações de apresentações. Mas ele emerge porque, em paralelo, os “fazedores de
cultura” que vieram da “roça” e que acumulam já certa idade colocam-se como gestores
culturais locais.13 Se “dançadoras” e “dançadores”, “jogadores de verso” e “foliões”
apreciam e esforçam-se para dar seguimento ao modo “apresentar-se” – em contraste
aos modos “paquerar”, “prestar homenagem religiosa”, “comemorar o trabalho
realizado” e “farrear” –, ao fazerem essas apresentações engajam-se enquanto
organizadores, mobilizadores, articuladores e, até, financiadores do processo, muito
além de estarem restritos às apresentações propriamente ditas.
“É uma dificulidade pra gente ir [ao EPGSV], aconteceu, tem vez, da gente querer ir
nalgum lugar, não poder ir porque a prefeitura não dá suporte […] Agora nos
derradeiro ano […] de casa aberta, nos dois últimos anos é que ele [o prefeito] tava
dando mais um suporte pra cultura” [Seu Antônio Maria].
44 A fala de Seu Antônio é emblemática para elucidar a relação dos grupos de “cultura de
tradição” com a prefeitura. E nos introduz, sob outro ponto de vista, a interface que há
entre as manifestações de “cultura de tradição”, a gestão cultural realizada pelos
“fazedores de cultura” e sua participação política no plano local. Porque as
apresentações do cotidiano fazem estreitar os vínculos entre esses “fazedores” e a
prefeitura, algo que passa a dar lastro para que sejam formuladas críticas e posições
condizentes à forma de atuação desta última – forma intermitente, ressalta-se,
cambiante e dependente das arbitrariedades políticas que se atualizam a cada exercício
eleitoral –, particularmente em relação ao campo artístico-cultural. Nesse sentido, a
gestão cultural por parte desses agentes compõe-se da organização dos “grupos
culturais”, da realização das apresentações, da articulação com a prefeitura, da
interlocução com a mencionada rede de atores contestatórios e com organizadores dos
eventos diversos, da logística de transporte, alimentação e hospedagem e, até, de
enfrentamentos, a partir dos quais se busca colocar em pauta as percepções e demandas
acerca do “sistema de troca” estabelecido com a prefeitura, tido ainda como
assimétrico. Finalmente, o comando da reprodução social das manifestações
tradicionais compõe o processo de gestão cultural local, algo que aparece tacitamente
percebido como essencial: “Já ensinei vários aqui em Arinos. Uma dessas pessoa é o
[Lauro]… Carlim, Chiquim, Fabrício e Cidi…” [Seu Antônio Maria].
45 Da saída da “roça” e de seu trânsito decorrente até a intensificação da
espetacularização, que pode ser vista em grande medida como voltada para os “de
dentro”, parece ter sido formulado um tipo de demanda pela exposição da própria
cultura, que fora sufocada no tempo e no espaço. Poder-se-ia chamar este fenômeno de
“demanda identitária”? A própria relocalização dos modos da “roça”, na cidade, teria
deixado latentes os modos que hoje tanto soam como sendo do passado – mesmo
porque até as “roças” já não são mais as mesmas; nelas tão facilmente não se vê mais os
“forrozinhos” e as “danças de roda”; se, por um lado, as manifestações na “roça”
diminuíram em frequência, por outro cederam espaço a novos elementos artístico-
culturais, como aqueles advindos da cultura de massas. Observa-se, nesse contexto, a
recrudescência das manifestações (figura 7), agora na cidade, algo que parece receber
influência das ações da rede local de atores contestatórios, das políticas culturais que
incorporaram novos valores subjacentes à tradição e, enfim, do conjunto de ações que
se dão no âmbito da administração municipal. A “cultura de tradição” passa a ser objeto
de múltiplos interesses: artístico-culturais, econômicos, simbólicos, identitários e
turísticos, que se apoiam no reposicionamento de valores e dão vestígios da
possibilidade – e apenas isto – de inversão de tendências, tal como aquela da
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
95
“dominação da cultura de massas”. Curioso notar que, tanto essa cultura de massas,
quanto a visão pejorativa sobre os modos rurais, quanto a valorização da tradição
(expressa inclusive em termos políticos) compõem a modernidade que aparece ali em
termos contraditórios.
Figura 7 – Representação da dinâmica de manifestações tradicionais nos municípios de Arinos e
Chapada Gaúcha, resultante do trânsito entre “roça” e cidade nas últimas décadas
Fonte: elaborada pelo autor.
Imagens sobre o mundo rural e desenvolvimento
46 As disputas locais “de desenvolvimento” conformam um campo de representações
(incluindo as imagens do rural) que acaba por expressar valores, conhecimentos, visões
de mundo e realidades distintas. Nesse sentido, o EPGSV e o Festival Sagarana opõem-se
às demais festas da região pela movimentação de outra pauta política, de cunhos
ambiental, artístico-cultural e agrário (no sentido distributivo da terra), entre outros.
Em um plano geral, identificam-se os contadores de histórias de vida compondo uma
rede de atores contestatórios que questiona, de formas variadas, o modelo de
desenvolvimento em curso, não sem contradições internas. Algo de particular dessa
rede é a habilidade de seus agentes em tecer alianças, quais sejam: com os “de fora”, em
geral agentes afetos à “cultura de tradição” residentes nas capitais; com Deus e os
signos do catolicismo; com grupos tidos como minorias (comunidades denominadas
quilombolas, grupos indígenas, etc.); o Estado; e, particularmente, com representantes
de comunidades variadas da “roça” (ou a “aliança com a tradição”); entre outros. Essas
alianças correm em paralelo a processos continuados de construção de afinidades nos
quais opera, marcadamente, a apropriação diferenciada da história local, em contraste
com a história hegemônica (cf. PMCG 2012), que tende a invisibilizar a vida nativa
precedente. A história alternativa que se tenta construir identifica a relação positiva
com o cerrado, valoriza aspectos diversos dos modos de vida, da ocupação do espaço e
das manifestações artístico-culturais intimamente ligadas a esses modos. Dessa forma,
elementos das histórias de vida da “roça” – estejam estes em seu espaço original ou
deslocados, nas cidades –, associados a outros corpos de conhecimento – advindos, por
exemplo, de mensagens das recentes políticas públicas culturais e ambientais, da
literatura regionalista de João Guimarães Rosa, dos discursos de movimentos
ambientalistas e de luta pela terra –, dão os contornos de um idioma de
desenvolvimento (Haan e Long 1997; Arce e Long 2000; Ribeiro 2008) amalgamado. De
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
96
formas variadas, busca-se, por meio desse idioma, desestabilizar no plano local o que
Foucault (1984: 11) chama de “economia política da verdade”, projetando-se o esboço
de um regime de verdade concorrente.
47 Seguindo Carneiro (2012: 247-254), estaríamos a falar da flexibilidade social manifesta
por ex-residentes da “roça” frente à dinâmica da modernidade. Ela aparece, então,
como consequência (e sinônimo) das situações de vulnerabilidade vividas na cidade
(figura 7) e resulta em imagens sobre o mundo rural que são produzidas acessando-se o
campo artístico-cultural. A “roça”, nesse sentido, passa a ser vista como um verdadeiro
reservatório de “cultura”, como se os símbolos que sustentavam um passado recente
fossem hoje valorizados, consumidos e, sobretudo, utilizados na formulação de
estratégias particulares: em última instância, estratégias de desenvolvimento de atores
ligados ou imersos na “cultura de tradição”. Isto nos remete a Cunha (2009: 354-363),
quando esta trata a cultura também como via de elaboração de projetos políticos; daí
que se observa que a coexistência entre cultura (sem aspas) e “cultura” (como recurso
para afirmar identidade, dignidade e poder diante de regimes maiores) gera efeitos
específicos. Assim, a “cultura de tradição” inscreve-se também nos marcos de uma
“cultura com aspas”, segundo a qual, havendo um jogo político de magnitude
interétnica, a cultura é posicionada diferentemente conforme convenha ou seja
possível.
48 A dita flexibilidade, de que trata Carneiro (2012), recai sobre o processo que dá vida às
manifestações, ou seja, sob determinada perspectiva, a forma de fazê-las é que poderia
ser dita flexível. O campo das manifestações da “cultura de tradição” não é estático, é
dinâmico e está amparado em um conjunto maior de valores que vai além daquele que
justifica sua existência original. Desta feita, podemos observar outras razões
sustentando uma retomada da tradição, tais como as possibilidades de construções
identitárias, de pertencimento, de autoestima e de cidadania. Este processo parece ter
sido iniciado quando da percepção da circulação de valores que confrontam a imagem
estigmatizada dos da “roça”; algo que estaria inscrito dentro do “campo de
possibilidades” de que trata Carneiro (2012), apesar de que, aqui, este campo não seria
definido exatamente pela “combinação das condições socioeconômicas e fatores
peculiares às unidades familiares” (2012: 250), mas com forte influência das políticas e
ações artístico-culturais, algo elucidado na figura 7. É nesse sentido que a ligação desses
agentes da “roça” com a rede de atores contestatórios que age no território deve ser
apreendida. Porque essa rede, por meio de linguagem própria, apoiada na releitura da
história, na literatura regionalista, entre outros elementos, conecta modalidades
artístico-culturais – o “artesanato de tradição”, o turismo, os encontros de “cultura de
tradição” –, de modo a dar corpo e consistência a uma experiência de desenvolvimento
amparada em signos da “roça”.
49 A questão da ruralidade aproxima-se do debate do desenvolvimento quando noções de
rural são projetadas como imagens e representadas diferentemente por atores sociais
diversos, algo que confere significado peculiar à interação entre estes (Haan e Long
1997; Carneiro 2012). As histórias de vida de ex-residentes da “roça” revelam um
avanço para o campo das representações que coincide com o “campo das
possibilidades”. Estas representações carregam consigo um universo simbólico e uma
visão de mundo que lhes correspondem e que, sendo plurais, exprimem formas
múltiplas de se afiliar ao território (Froehlich 2003). A imagem do rural – do
desenvolvimento rural, em última instância – está em jogo e se torna objeto de disputa
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
97
em uma arena onde passam a figurar – ou, se não passam, figuram com expressão
renovada – agentes que se colocam enquanto “fazedores de cultura” e, de modo quase
inevitável, aceitam a mediação de entes com os quais compartilham valores
“contestatórios”.
“Como sustentamos, a ruralidade não é mais possível de ser definida com base na
oposição à urbanidade. O rural e o urbano corresponderiam, portanto, a
representações sociais sujeitas a reelaborações e ressemantizações diversas de
acordo com o universo simbólico a que estão referidas. A ruralidade se expressa de
diferentes maneiras como representação social – conjunto de categorias referidas a
um universo simbólico ou visão de mundo – que orienta práticas sociais distintas
em universos culturais heterogêneos, num processo de integração plural com a
economia e a sociedade urbano-industrial” (Carneiro 1998: 73).
50 Observa-se, assim, a (re)construção identitária por parte de agentes que estabelecem
relações sociais específicas e, não raro, trançam coalizões – os da “roça” e agentes
contestatórios – para interagir em arenas de domínios discursivos e de representação
concorrentes. Esse seria um dos significados locais do rural – da “roça” – enquanto
espaço heterogêneo, sobretudo no que tange as representações sociais. Nesse sentido,
uma visão de mundo oposta à “cultura de tradição” pode ser representada pela
agricultura tecnificada, por meio da qual foi possível transformar antigas áreas de
“gerais” – áreas de cerrado, de “roça”, no final das contas – em campos de monocultura,
hoje vistos como signo de desenvolvimento. Muitos foram os habitantes de Arinos que
referenciaram a cidade vizinha Chapada Gaúcha14 como um pólo de monoculturas
tecnificadas, como espaço de progresso, emprego e desenvolvimento, assim como
observou Chaves (2003) em relação ao município de Buritis ali próximo. Essa imagem do
rural, dominado pela técnica, chega a ser propagandeada pela prefeitura de Chapada
Gaúcha (figura 8). Nesse sentido, frisa-se, a figura 8, em termos de imagem de
desenvolvimento projetada, é concorrente da figura 6, a partir da qual tem-se que o
desenvolvimento é artístico-cultural. Considerando as práticas discursivas em jogo,
observa-se contradição quando se verifica parte expressiva da população de Chapada
Gaúcha vestindo camisetas que remetem às diversas edições do EPGSV, por sua vez
espaços de oposição explícita ao modelo de agricultura conduzido no território.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
98
Figura 8 – Cartão postal de Chapada Gaúcha, distribuído pela prefeitura a eventuais visitantes em
2013 (frase do verso: “Chapada Gaúcha/MG destaca-se em produção de grãos e sementes. A
plantação no município é caracterizada pela qualidade em tecnologia avançada de insumos,
máquinas e equipamentos”)
Fonte: Foto de Eucleber Gobbi, editada pelo autor.
51 Se a “retomada identitária” embasada nas histórias vividas participa na projeção de
imagens plurais sobre o rural – não tanto pela pluriatividade laboral, mas mais pelas
representações e formas de afiliação ao território –, esse processo é revelado, com
grande força, agora na cidade, a despeito da oposição entre “cidade” e “rural”
comumente observada. A cidade é constituída enquanto espaço de disputa de visões de
mundo e de representações: enquanto o papel que lhe é atribuído por parte dos atores
sociais não pode ser desprezado, a reprodução e ressignificação de valores (como o da
boa “cultura de tradição”) dá-se na interação entre esses atores e outros agentes. Trata-
se de uma das formas encontradas para realizar agência (Long 2007), de modo tal que a
questão do desenvolvimento é deslocada, sorrateiramente, para o campo simbólico, por
mais que se possam identificar, no plano discursivo da mediação, questões econômicas
associadas (o “artesanato de tradição”, o turismo, etc.). São as cidades, em grande
medida, os espaços desses símbolos, que são colocados como rurais (“da roça”), ao
menos no que se refere ao seu uso estratégico para a mudança social e as construções
que lhe correspondem.
52 Em termos objetivos imediatos, essa dinâmica aponta para a criação de novos espaços
de sociabilidade – a exemplo do “Idade de Ouro” e do EPGSV – e acaba por tangenciar o
campo da economia, como o turismo e o artesanato, conferindo algum fôlego a uma
cultura que amargou com a distinção social radical e crônica. Também o
reconhecimento perante a própria comunidade parece estar permitindo o
reposicionamento gradual das pessoas ligadas à “roça”. Destaca-se, nesse sentido, o
reconhecimento por parte do poder público municipal, que aponta para a
institucionalização de processos relevantes à condução do “projeto local”. Dos
contadores de histórias de vida extrai-se que as danças tradicionais vêm sendo
operadas como veículo de coesão de grupo, e a intermitência desse tipo de interação
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
99
social constitui marca profunda que lhes impõe desafios pessoais e coletivos para os
quais ainda se busca resolução. Conseguem, então, gradativamente, ao que parece,
margem de manobra importante para firmar valores no plano de um coletivo local mais
abrangente (o “Idade de Ouro”, a rede de “artesanato de tradição”, os encontros de
“cultura de tradição”, etc.), apesar das fragilidades institucionais que se mostram. Ao
mesmo tempo, alguns espaços já instituídos permitem o encontro de grupos de origem
comum, “da roça”.
53 A dimensão social da espetaculariazação é convertida, sob o ponto de vista desses
agentes “fazedores de cultura”, em uma experiência de desenvolvimento “exitosa”, sem
dispensar as contradições e ambiguidades que estão em cena. Nos dias atuais, é por
meio do campo artístico-cultural, particularmente, que os “da roça” têm lidado com
questões de alteridade ligadas à construção identitária. O efeito de desenvolvimento é
reforçado quando se incorpora o fato de que a negação da própria cultura entre os mais
jovens, em contexto de encontro de valores, aparece ainda com intensa força, dos
pontos de vista histórico e psicológico.
Receção da versão original / Original version
2016 / 12 / 01
Receção da versão revista / Revised version
2017 / 08 / 20
Aceitação / Accepted 2018 / 02 / 15
BIBLIOGRAFIA
ANDRIOLLI, Carmen Silvia, 2011, Sob as Vestes de Sertão Veredas, o Gerais: “Mexer com Criação” no
Sertão do IBAMA. Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de
Campinas, tese de doutorado.
ARCE, Alberto, e Norman LONG (orgs.), 2000, Anthropology, Development and Modernities: Exploring
Discourses, Counter-Tendencies and Violence. Londres, Routledge.
BOURDIEU, Pierre, 2006, “O camponês e seu corpo”, Revista de Sociologia e Política, 26: 83-92.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues, 1999, O Afeto da Terra. Campinas, Editora da Unicamp.
CANCLINI, Néstor García, 2011, Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade. São
Paulo, Editora da USP.
CARNEIRO, Maria José, 1998, “Ruralidade: novas identidades em construção”, Estudos Sociedade e
Agricultura, 11: 53-75.
CARNEIRO, Maria José (org.), 2012, Ruralidades Contemporâneas. Rio de Janeiro, Mauad X/FAPERJ.
CARVALHO, Horácio Martins de (org.), 2014, Chayanov e o Campesinato. São Paulo, Expressão
Popular.
CERQUEIRA, Ana Carneiro, 2010, O “Povo” Parente dos Buracos: Mexida de Prosa e Cozinha no Cerrado
Mineiro. Rio de Janeiro, Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, tese de
doutorado.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
100
CHAVES, Christiane de Alencar, 2003, Festas da Política: Uma Etnografia da Modernidade no Sertão
(Buritis – MG). Rio de Janeiro, Relume Dumará/Núcleo de Antropologia da Política da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
CUNHA, Manuela Carneiro da, 2009, Cultura com Aspas e Outros Ensaios. São Paulo, Cosac Naify.
DELGADO, Guilherme, 2005, “A questão agrária no Brasil, 1950-2003”, em Luciana Jaccoud (org.),
Questão Social e Políticas Sociais no Brasil Contemporâneo. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, 51-90.
DURKHEIM, Émile, 2015, Da Divisão Social do Trabalho. São Paulo, Edipro.
ESCOBAR, Arturo, 2005, “El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social”, em Daniel Mato
(org.), Políticas de Economía, Ambiente y Sociedad en Tiempos de Globalización. Caracas, Universidad
Central de Venezuela, 17-31.
FAUSTO, Boris, 2006, A História Concisa do Brasil. São Paulo, Editora da USP.
FOUCAULT, Michel, 1984, Microfísica do Poder, Rio de Janeiro, Graal.
FROEHLICH, José Marcos, 2003, “A (re)construção de identidades e tradições: o rural como tema e
cenário”, Antropolítica, 14: 117-132.
GOFFMAN, Erving, 1989, A Representação do Eu na Vida Quotidiana, Petrópolis, Vozes.
HAAN, Henk de, e Norman LONG (orgs.), 1997, Images and Realities of Rural Life. Assen, Van
Gorcum.
LEAL, Alessandra Fonseca, 2011, Semear Cultura, Cultivar Culturas Populares, Colher Patrimônios:
A Gestão Social da Cultura Popular às Margens do Rio São Francisco no Norte de Minas Gerais. Uberlândia,
Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, dissertação de mestrado.
LONG, Norman, 2007, Sociología del Desarrollo: Una Perspectiva Centrada en el Actor. Cidade do
México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
MARTINS, José de Souza, 1991, Expropriação e Violência: A Questão Política no Campo. São Paulo,
Hucitec.
MARTINS, José de Souza, 1994, O Poder do Atraso: Ensaios de Sociologia da História Lenta. São Paulo,
Hucitec.
MELO, Adriana Ferreira de, 2011, Sertões do Mundo: Uma Epistemologia. Belo Horizonte, Instituto de
Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, tese de doutorado.
MENEGHEL, Stela Nazareth, 2007, “Histórias de vida: notas e reflexões de pesquisa”, Althenea
Digital, 12: 115-129.
MENEGHEL, Stela Nazareth, et al., 2008, “Histórias de dor e de vida: oficinas de contadores de
histórias”, Saúde e Sociedade, 17 (2): 220-228.
MEYER, Gustavo, Flávia Charão MARQUES, e Gabriel Túlio de Oliveira BARBOSA, 2016, “Entidades
performáticas e desestabilização: o desenvolvimento local para além do mainstream”, Interações
(UCDB), 17 (1): 33-45.
MOREIRA, Daniel Augusto, 2002, O Método Fenomenológico na Pesquisa. São Paulo, Pioneira
Thomson Learning.
PEIRANO, Marisa Gomes e Souza, 1997, “Antropologia política, ciência política e antropologia da
política”, Série Antropologia (UnB), 231: 15-26.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
101
PEREIRA, Luzimar Paulo, 2009, Os Giros do Sagrado: Um Estudo Etnográfico sobre as Folias em Urucuia –
MG. Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, tese de doutorado.
PMCG – Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha, 2012, A Saga dos Gaúchos no Sertão Norte Mineiro.
Chapada Gaúcha-MG, Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha.
RIBEIRO, Gustavo Lins, 2008, “Poder, redes e ideologia no campo do desenvolvimento”, Novos
Estudos (CEBRAP), 80: 109-125.
SABOURIN, Eric, 2009, Camponeses do Brasil: Entre a Troca Mercantil e a Reciprocidade. Rio de Janeiro,
Garamond Universitária.
SILVA, Manuel Carlos, 2012, Sócio-Antropologia Rural e Urbana: Fragmentos da Sociedade Portuguesa
(1960-2010). Porto, Edições Afrontamento.
SIMMEL, Georg, 2006, Questões Fundamentais da Sociologia: Indivíduo e Sociedade. Rio de Janeiro,
Jorge Zahar Editor.
SØNDERGAARD, Dorte Marie, 2002, “Poststructural approaches to empirical analysis”,
International Journal of Qualitative Studies in Education, 15 (2): 187-204.
SOUZA, Marcos Spagnuolo, 2000, Vidas Vividas em Arinos. Arinos, Agência de Desenvolvimento
Integrado e Sustentável do Vale do Rio Urucuia.
TÖNNIES, Ferdinand, 1957, Community & Society. Nova Iorque, Harper & Row.
WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel, 2004, “Olhares sobre o rural brasileiro”, Raízes, 23 (1):
82-98.
WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel, 2009, “O mundo rural brasileiro: acesso a bens e serviços
e integração campo-cidade”, Estudo Sociedade e Agricultura, 17 (1): 60-85.
WEBER, Max, 1987, “Conceito e categorias da cidade”, em Otávio Velho (org.), O Fenômeno Urbano.
Rio de Janeiro, Guanabara, 67-88.
WEBER, Max, 1994, Economia e Sociedade. Brasília, Editora da UnB.
WEISHEIMER, Nilson, 2005, “Jovens agricultores: gênero, trabalho e projetos profissionais”, Anais
do 29.º Encontro Anual da ANPOCS, CD-ROM.
NOTAS
1. Entenda-se doravante “cidade” como sendo, em geral, cidade pequena, de pequeno porte, tal
qual Arinos (hoje com aproximadamente 18.000 habitantes), de modo a fazer contraste com
“capital”, cidade de grande porte.
2. “Narradores” ou, mais adiante, “contadores”, não constituem referências identitárias, mas
designações minhas para referir as cinco pessoas que contribuíram com suas histórias de vida.
3. Trata-se de um reconhecimento similar àquele que decorre do emprego do termo antropologia
da política, ao invés de antropologia política, ou seja, de que o sentido de política é determinado
socialmente nos diferentes contextos (cf. Peirano 1997).
4. “Argumento” corresponde a uma competição escolar na qual os alunos dirigiam perguntas uns
aos outros no intuito de verificar o conhecimento alheio. Quando a questão não era respondida
de modo considerado adequado, o aluno que elaborara a questão podia bater com uma vara no
colega.
5. Para adentrar a noção nativa de “liberdade”, ver Andriolli (2011).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
102
6. Em relação a esta época, frisa-se a força e a abrangência da divisão social entre “fazendeiros” e
“agregados”, na qual os primeiros agiam como provedores e cediam terras aos segundos.
7. “Brasília”, aqui escrita entre aspas simples, remete a um conjunto de cidades, ou seja, ao
Distrito Federal como um todo, com suas cidades satélites. Brasília, sem aspas, seria apenas uma
dessas cidades, a mais rica, de modo que, em geral, quando se fala “Brasília”, está se remetendo às
cidades satélites em volta de Brasília, tidas como mais pobres.
8. Para entendimento acerca das funções de “imperador”, ver Pereira (2009).
9. Grosso modo, os “pontos de cultura” correspondem a projetos artístico-culturais, com dotação
financeira, propostos por organizações locais diversas (em geral ONGs e prefeituras), a partir de
editais públicos federais e estaduais.
10. Neste caso, refiro-me aos chamados “grandes shows sertanejos”, aos “forrós”, aos “arrochas”,
entre outras modalidades, com artistas do circuito comercial de música, amplamente conhecidos
e representantes do mainstream artístico-cultural. De outro modo, faz-se referência ao que é
tomado por muitos como “balada”. Neste caso, “balada” corresponde a à associação entre o
consumo banalizado de bebidas alcoólicas, os shows de artistas excessivamente midiatizados (em
muitos casos contendo músicas cujas letras são sexualizadas), o alto volume sonoro e a presença
predominante de jovens.
11. Espetacularização se refere à noção segundo a qual manifestações populares ditas
tradicionais, apoiadas em modos de vida peculiares, são empenhadas no campo artístico-cultural
destituídas das condições necessárias à reprodução social dos referidos modos de vida.
12. Nesse sentido, é relevante apontar alguns signos dessas políticas na região, quais sejam: a
implantação recente de sistemas municipais de patrimônio cultural; a ocorrência de alguns
pontos de cultura; a ocorrência anual de alguns festivais de “cultura de tradição” produzidos por
organizações da sociedade civil; o funcionamento de uma rede de produção e comercialização de
“artesanato de tradição”, entre outros.
13. O termo “fazedores de cultura” foi apresentado como nativo. Entretanto, identifica-se a
adoção do termo como tendo sido influenciada pelos jargões das políticas culturais
contemporâneas.
14. Aqui, Chapada Gaúcha deve ser compreendida compartilhando um território com Arinos.
RESUMOS
A partir da história de vida de cinco egressos da “roça”, hoje residentes na sede municipal de
Arinos (MG), analisa-se como memórias, signos e experiências tidas na transição à cidade operam
em processos de (re)construção identitária que fazem frente à imagem pejorativa lançada sobre a
origem e os modos de vida dos “da roça”. Em paralelo, a invenção da “cultura”, decorrente da
recente circulação de valores positivos acerca de tradições populares, dentre as quais as
“da roça”, marca a configuração de um campo artístico-cultural no qual grupos locais, ligados a
uma rede de atores contestatórios, participam na tessitura de imagens que concorrem com uma
ideia hegemônica de desenvolvimento.
Based on the life histories of five people who left the countryside to live in the municipal town of
Arinos (MG), we analyze how memories, signs and experiences of the transition to the city
operate in processes of identity (re)construction that challenge the pejorative image cast on the
origin and ways of life of countryside people. In parallel, the invention of “culture,” resulting
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
103
from the recent circulation of positive values associated to folk traditions, including rural ones,
marks the configuration of an artistic-cultural field in which local groups linked to a contesting
actors network participate in the designing of images that compete with a hegemonic idea of
development.
ÍNDICE
Keywords: identity, anthropology of development, rural, life history
Palavras-chave: identidade, antropologia do desenvolvimento, rural, história de vida
AUTOR
GUSTAVO MEYER
Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brasil
meyer_gustavo@yahoo.com.br
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
104
Políticas da hierarquia e
movimentos da política no alto Rio
Negro: algumas transformações
indígenas
Hierarchy politics and political shifts in upper Rio Negro: some indigenous
transformations
Aline Iubel e Piero Leirner
Apresentação: “hierarquia”, “política” e problemas
conceituais
1 “Hierarquia” e “política”, palavras (sobre)carregadas de sentidos etnográficos e
teóricos, são, neste artigo, caminhos e horizontes e não pontos de partida. 1 O motivo de
elas inspirarem o título aqui tem a ver com o fato de, durante vários períodos
realizando pesquisa de campo no alto Rio Negro (doravante ARN), terem sido objeto de
conversas, controvérsias e de uma incontável quantidade de associações que
provocavam em relação a outras palavras e práticas. Portanto, não trataremos essas
duas palavras como possuindo definições fixas ou estáveis, mas como noções que foram
e ainda são acionadas, em português mesmo e em diferentes ocasiões, por “lideranças
indígenas” e demais envolvidos no movimento indígena do ARN. Nossa argumentação
seguirá no caminho, justamente, de demonstrar alguns dos sentidos apresentados como
“problemáticos” por nossos interlocutores quando se referem à “hierarquia” e à
“política” locais.
2 Partiremos de episódios e falas que ilustram torções e/ou reafirmações de posições que
são localmente descritas como “tradicionais” e estão imbricadas a certos aspectos da
organização social (que, entre outros elementos, diz respeito à divisão de papéis rituais;
à ocupação de faixas territoriais distintas; à arquitetura das comunidades locais; à
transmissão do conhecimento tradicional; a uma certa divisão do trabalho; à mitologia
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
105
e à história). Estas posições, com toda esta carga de associações que elas amarram, em
princípio podem ser associadas à “hierarquia”. Por exemplo, ao perguntarmos a alguém
sobre as características de seu clã, a resposta provavelmente enunciará em algum
momento a palavra “hierarquia”. Antes de mais nada, é preciso ter em mente que tanto
essa ideia de algo “tradicional” quanto a hierarquia que possa estar implicada em uma
tradição ou história comum dos povos do ARN não são, elas próprias, pontos de
referência fixos no tempo e espaço.2 Pelo contrário, “transformação” parece se
constituir em uma outra palavra-chave quando pensamos na região (cf. Andrello 2006).
3 Justamente por isto, este não é um ponto exatamente simples. Tentativas de
manipulações da “hierarquia” – incorrendo em versões e disputas de um ou mais desses
elementos associados a ela – ocorrem no ARN em diversas modalidades, como no
parentesco e na mitologia (Andrello 2016), no ritual (S. Hugh-Jones 1995) e no
xamanismo (Rodrigues 2012). No entanto, nos concentraremos naquela que pode ser
entendida provisoriamente como o “político”, tomando este também como um conceito
nativo que se situa no agenciamento do jogo de posições sociais e sua relação com o
movimento indígena, representado em associações e na Federação das Organizações
Indígenas do Rio Negro (FOIRN). A partir deste foco, veremos como o “político”
mobiliza tanto novas organizações e eleições, por exemplo, quanto reafirma formas
precedentes de chefia e liderança, inscritas na hierarquia dita “tradicional”.
4 Evidentemente, não negamos que partimos de um lugar conceitual já estabelecido e que
há certo risco em tomar hierarquia e política como projeções de nossas noções
antropológicas homólogas, ainda mais considerando que ambas possuem sentidos
fortes na literatura antropológica, tanto regional quanto se pensadas contrastivamente
com outras paisagens etnográficas. Um dos nossos objetivos será, ao longo do
desenvolvimento de nossa argumentação, mostrar como esses conceitos são elaborados
por “lideranças indígenas” (às vezes de maneira não consensual, inclusive), e ressaltar a
ideia de que (e como), a partir dessas elaborações, os indígenas produzem
sistematicamente uma reflexão sobre o lugar das “coisas de brancos” nesse jogo,
incluindo aí “suas” (nossas) categorias, e o modo pelo qual eles “digerem” as
instituições brancas para lidar, por exemplo, com o Estado. 3
5 Obviamente, não negamos o fato de que entre estas relações há aquelas com uma série
de agentes “brancos” – comerciantes, ONGs, Estado em suas múltiplas instâncias, Igreja
–, que em certa medida forçaram uma contrapartida indígena. No entanto, esta reação
não precisa necessariamente ser considerada como uma mera tentativa de copiar as
instituições brancas, e imaginamos que aqui há notáveis tentativas de aproximação
indígena ao Estado de maneira própria e criativa. Embora o caso aqui tratado tenha
semelhanças com inúmeras descrições sobre os efeitos da presença de instituições não
indígenas (especialmente de instituições estatais e missionárias) em situação de
contato,4 gostaríamos de insistir no fato de que esta meta-articulação regional
rionegrina guarda certas especificidades.
6 Para realizarmos este percurso, inicialmente situaremos alguns dos modos como a
literatura antropológica regional vem compreendendo os termos “hierarquia” e
“política”, para tentarmos estabelecer entre eles algumas primeiras conexões. Para
isso, recorremos às figuras da “maloca”, da “chefia”, do “irmão maior” e do “irmão
menor”. Mais uma vez, esperamos que o acesso a essas imagens não as cristalize, ao
contrário, evidencie que estão envoltas em disputas e em uma dinâmica
transformacional de longa duração, que se reconfigura, mais recentemente, no
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
106
movimento indígena. Assim, apresentados os termos descritos nativamente como
“tradicionais”, passaremos ao elemento central deste artigo: algumas das acepções
locais dos conceitos de “hierarquia” e “política”. Para tal, privilegiaremos a FOIRN
como locus onde se faz, se discute, se reavalia e até mesmo se coloca “em risco”
(cf. Sahlins 1990) os modos como esses conceitos são vividos. Como nos foi explicitado
algumas vezes por “lideranças”, a FOIRN é o “lugar de uma nova política indígena”,
uma política que é tanto deles (índios) quanto pensada em relação a outras (brancos).
Além disso, sua importância se reflete na articulação entre comunidades, associações e
os vários grupos que estão situados ao longo do curso do alto e médio rio Negro.
Finalmente, procuraremos voltar aos conceitos aqui discutidos, balizando-os em
relação às mudanças sociológicas regionais que decorrem das relações em
transformação no ARN.
“Malocas”, “chefias”, “irmãos maiores” e “irmãos
menores”: imagens da hierarquia e da política locais
7 Usualmente, pelo menos até os anos 1920 – quando da chegada dos salesianos, após o
que passaram a ser progressivamente (e forçosamente) abandonadas –, as malocas 5
eram construídas por uma comunidade a partir da motivação de um chefe, ou dono da
maloca (em tukano, ora é referido como si’ôri niigi, aquele que “toma conta”, ora como
wiôgi, dono). Tal designação – de chefe – no entanto, merece alguma consideração
complementar, pois estamos longe de encontrar um consenso na literatura
antropológica regional. Para falar nos exemplos mais clássicos, vemos em Goldman
(1979 [1963]: 151-152) a chefia cubeo aparecer sob o termo habókü – estabelecido pela
performance individual – e sob a forma de kenámi upákü – o “cabeça de maloca”
(headman), que estaria associado a um papel tradicional, dado pela posição. Já na
etnografia de 2004, ambos parecem se aproximar mutuamente sob o epíteto da chiefship
(Goldman 2004: 96-99). Reichel-Dolmatoff (1971: 15), por sua vez, vincula papel
semelhante à condição de “dono”6 – o que em parte nos aproximaria à noção de “dono
da maloca”. C. Hugh-Jones (1979: 70 e ss.) pensa numa ênfase clara do papel de chefe
como cume da “hierarquia” – representada na maloca –, ainda que ela perceba
domínios de outras ordens como uma espécie de “fórmula concêntrica” (1979: 70),
como o “domínio do exterior”, exercido pelos guerreiros e na relação entre chefes e
servos,7 e o “domínio metafísico”, na relação entre cantadores e xamãs (1979: 103).
8 Mas a relação entre chefia e maloca vai além da “posse” e da divisão de papéis. Como
mostra S. Hugh-Jones (1995), a maloca era um “modelo do universo”. E, neste, o chefe
tinha um papel importante na constituição do grupo comunitário, não apenas na
coordenação cerimonial e nos sistemas de troca, mas também na expressão de um ideal
de “bem viver” que propiciava as condições necessárias e suficientes, do ponto de vista
nativo, para o crescimento comunitário e seu bom posicionamento no intrincado
sistema sociopolítico que irradiava ao longo dos rios (ver também Andrello 2006).
Através de suas características arquitetônicas e estéticas, e a partir da quantidade e
riqueza dos rituais que nela ocorriam, a maloca revelava coisas a respeito de seu dono e
sua comunidade. Se atentarmos ao fato de que a sociologia do ARN é marcada por uma
característica estrutural, comum às diferentes etnias, que é a hierarquia em forma de
uma cadeia de precedências, a maloca era capaz de revelar, através da distribuição dos
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
107
grupos familiares em seu interior, como se dava a coloração local e este tipo de
organização.
9 Como já foi dito, este é um elemento que permeia, em princípio, os mais diferentes
níveis e escalas do “sistema” altorrionegrino (Andrello 2016), situando diferentes sibs
de uma etnia segundo um modelo baseado na ordem de aparecimento no interior de um
grupo de ancestrais;8 bem como situando os papéis ideais que cada irmão (e membro do
sib) e seus descendentes vão desempenhar no interior de um grupo local. 9 Esses
componentes são o que podemos sintetizar, genericamente e a partir da literatura,
sobre o que seria uma “hierarquia” no ARN, embora estejam longe de constituir uma
estrutura absoluta e rígida – já que são eles próprios alvo de controvérsias e disputas
que dão enorme plasticidade à organização social regional (Andrello 2012, 2016;
S. Hugh-Jones 2012). Eles fornecem, ao menos, um idioma que parece ser estruturante
da política de relações – e das relações políticas, entendendo essas aqui como
capacidades operacionais de se promover transformações entre modelos ideais e
práticas, ao modo de Leach (1967 [1954]) – dentro e fora de grupos de diferentes escalas.
10
10 Em linhas bem gerais, o principal elemento localizador do mapa social é aquele que se
estabelece entre as posições de irmão maior e irmão menor – que, ainda, subordina
outras posições, como as de tio, avô, sobrinho e neto (Jackson 1983; Chernela 1993). Esse
sistema ainda se projeta tanto para as gerações “ascendentes” quanto para as
“descendentes”, tornando o Rio Negro um caso extraordinário em termos de
ancestralidade, pois, no caso, a partir de um determinado ponto (diríamos que
usualmente a G+/−3),11 a patrilinearidade parece se dobrar à terminologia de “irmãos”,
o que ao mesmo tempo inflexiona a ancestralidade em direção à “hierarquia de sibs” e
dá margem para controvérsias sobre precedências e pertencimentos a determinadas
“linhas”. Quando tentam alçar voos mais distantes na história e estabelecer qual
“irmão” veio antes, as narrativas não são nada conclusivas. 12
11 Isto aparece não só em quase todas as etnografias, mas também em designações
ordinárias que se ouvem da boca de muitos, em São Gabriel ou em comunidades rio
acima e abaixo. Embora, obviamente, como e quando se usa tais terminologias seja de
tal amplitude que elaborar uma “teoria da hierarquia rionegrina” nos pareça ser algo
para uma vida, também consideramos a hipótese de que dificilmente a “política”
regional possa prescindir de tais elementos. Importa retermos, para o nosso caso, que,
embora essas posições orientem uma ordem de status no mundo – em um nível que
poderia até se pensar em algo como uma espécie de hierarquia do modelo de castas, o
que, aliás, Goldman (2004: 96-97) parece sugerir –, é notável que quem ocupa essas
posições seja bastante variável, tornando, portanto, este “sistema” bastante relativo. 13
12 Se, de um lado, podemos ver isso, por exemplo, nas divergências que as diferentes
narrativas míticas apresentam sobre qual “irmão” apareceu primeiro nos tempos
primordiais, de outro lado, é sociologicamente perceptível que a “hierarquia” está em
algo relacionada a uma habilidade para manter a harmonia cotidiana e realizar rituais.
O crescimento de alguns grupos (e definhamento de outros) é um elemento central para
se entender reposicionamentos na ordem dos “irmãos” – que ora se multiplicam e se
sobrepõem, ora encolhem e desaparecem (Andrello 2013). Adicione-se a isto o fato de
que os grupos propriamente ditos passaram a se redimensionar nesta aliança pan-
étnica em São Gabriel, e perceberemos que a “hierarquia”, antes mais bem definida na
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
108
maloca – modelo de convergência de toda sociologia e cosmologia (S. Hugh-Jones 1979,
1995) – passa a contar com muitas outras variáveis.
13 Uma vez que que as malocas e seus donos ornavam parte de uma arquitetura
hierárquica visível, não foi menor o fato de os missionários terem imposto e conseguido
promover o abandono das mesmas e instituído um novo modelo de moradia – baseado
em residências unifamiliares. É impossível não especular sobre os efeitos que tal
desmobilização da maloca teve sobre a chefia altorrionegrina. Quanto a isso, a fala de
um índio tukano do rio Papuri descrita por Andrello é ilustrativa:
“Quando os missionários chegaram, eles não puderam compreender nossos
dabucuris e festas com miriã (flautas sagradas). Começaram então a perseguir essas
coisas, dizendo que eram coisas do diabo. Os padres disseram também que era
melhor morar em uma casa diferente, em casas separadas. Os velhos tiveram então
um primeiro choque, porque deixaram de ter quem os orientasse. E logo deixaram
de contar para os filhos como essas coisas eram feitas. Quando eles começaram a
fazer casas particulares, usaram palha branca e casca de árvores. Mas logo os padres
disseram que o melhor era com barro. Então alguns começaram a usar assim, mas
não foi de uma hora para outra. As portas eram trançadas com palha, como ainda se
fazia na maloca. Depois de algum tempo os padres mostraram como se fazia uma
porta com tábuas e dobradiças. Passaram a ter que comprar dobradiças dos
missionários” (Andrello 2006: 200).
14 Concomitantemente ao abandono das malocas, surgiu no Rio Negro um novo modo –
eletivo – para a escolha de chefe da comunidade. Enquanto na maloca a chefia era
ocupada pelo “irmão maior”, a partir das eleições para “capitães”, inicialmente
promovidas pelos religiosos, alguns “irmãos menores” passaram a poder ocupar tal
posição. Entre outras coisas, passou-se a observar que, na política das próprias
comunidades, no seu jogo em relação à “hierarquia”, as habilidades de “irmãos
menores” que estavam nas franjas do sistema de papéis tradicionais e frequentemente
iam, por exemplo, estudar ou servir no exército, passaram a ser extremamente úteis
nas “relações exteriores” e nas pretensões de reposicionamento do grupo local, 14 do sib
ou, em casos mais drásticos, do clã e da própria etnia. 15
15 O que ocorre a partir dos anos 1980 é uma outra história, ainda que de certo modo
bastante conexa. A região passa a ser mais intensamente ocupada por militares, que
efetivamente não olham com simpatia para as formas de aldeamento e expansão
missionária salesiana na região. Para aqueles, tratava-se sobretudo de criar uma zona
de conversão de comunidades indígenas em um incipiente proletariado urbano, que
atendesse a uma constante necessidade de obtenção de recrutas para a ocupação da
faixa norte do país. Este processo, que se intensificou a partir de 1985, com o chamado
Projeto Calha Norte (PCN), concomitante à expansão de vários projetos de exploração
mineral que deveriam compreender a criação e fortalecimento de polos urbanos,
retroalimentou uma estratégia de saída de indígenas de suas comunidades originais,
aumentando drasticamente a mobilidade regional e a efetivação de novas alianças,
políticas e matrimoniais (Lasmar 2005). Além disso, com efeito, viu-se aparecer uma
nova agenda de problemas territoriais, que, no âmbito dos governos democráticos
ulteriores ao fim do regime militar (em 1985, justamente), teve como contrapartida
indígena o aparecimento de associações que passaram a ser protagonizadas por um tipo
de liderança que posteriormente vai se agregar e dar forma à FOIRN.
16 Ao longo das décadas de 1970 e 1980, esses novos agenciamentos – de lideranças
políticas eleitas em comunidades e associações, a criação e crescimento do número de
associações, a entrada num “mercado de projetos”, por exemplo – transformaram a
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
109
forma de diálogo com os brancos, num sentido que buscava, dentre outras coisas,
reforçar o protagonismo indígena. Essa movimentação foi fruto tanto de relações e
negociações internas (entre etnias e grupos) e externas (com brancos), quanto de
acontecimentos de ordem nacional e global, como a promulgação da Constituição
Federal em 1988 e o crescimento de investimentos nacionais e internacionais em
organizações da sociedade civil (Albert 2001; Pimenta 2009).
17 A mudança que se deu nos anos 1990 está tanto no processo de formalização de várias
destas organizações quanto no surgimento de tantas outras, bem como em suas
funções, já que elas passaram a assumir cada vez mais atribuições que o Estado deixou
de desempenhar diretamente,
“remetendo grande parte de sua execução ou seu financiamento, por um lado, à
esfera local (municípios, estados) – em matéria de educação ou de saúde – e, por
outro, à rede de agências de cooperação bi e multilateral e das ONGs internacionais
(no domínio dos projetos de autossustentação econômica)” (Albert 2001: 198).
18 Passou-se, assim, de uma forma de etnicidade estritamente política, embasada em
reivindicações territoriais e legalistas, para o que Albert (2001) chama de “etnicidade de
resultados”, com a afirmação identitária assumindo o pano de fundo para a busca de
acesso ao mercado (principalmente, ao “mercado dos projetos”). 16
FOIRN: uma “nova” maloca e o movimento das
lideranças indígenas
19 Com auxílios financeiros de instituições estrangeiras, a FOIRN inaugurou, em 1995, uma
grande maloca.17 Construída junto à sede administrativa da FOIRN, em São Gabriel da
Cachoeira, foi erguida por índios tuyuka do rio Tiquié. Assim como as antigas, se impõe
não apenas por seu tamanho, mas também pela beleza, iluminação, pelo som, enfim,
pela vida que contém. A diferença em relação às antigas é que aqui não há divisões
entre os compartimentos que seriam ocupados por cada grupo familiar. Além disso, a
porta dos fundos não é nem saída nem entrada, já que está localizada a cerca de um
metro do muro que delimita o terreno. Essa maloca é usada como dormitório por
grupos que vêm à cidade e não têm casa de parentes onde passar alguns dias, mas,
também e principalmente, é onde se realiza grande parte das reuniões e encontros
promovidos pelo movimento indígena, ocasiões nas quais ganha ainda mais vida. Sobre
o chão de terra batida, sempre impecavelmente limpo, são dispostas cadeiras, mesas,
aparelhos de som e projetores entre os quais circulam lideranças indígenas, presidentes
de associações, diretores da FOIRN, mulheres e crianças, agentes estatais e funcionários
de ONGs. Ou seja, pode-se dizer que ela é emblemática da dimensão que assumiu o
movimento indígena no ARN e das novas relações que dele vão surgindo,
movimentando “tempo” e “espaço” e suas inter-relações na “hierarquia” e na
“política”.
20 Em termos espaciais, pensamos por exemplo nas diferentes negociações feitas para que
a demarcação das terras indígenas no ARN fosse possível, tanto entre diferentes etnias
e grupos políticos locais, quanto entre indígenas e brancos. 18 Em relação à
temporalidade, há agora, a partir do novo modo de escolha de líderes políticos,
alternância e ciclos, marcados pelas eleições de presidentes de associações e pelas
assembleias eletivas da FOIRN. As eleições tornaram-se o meio mais comum pelo qual as
pessoas da comunidade assumem cargos em associações indígenas e na FOIRN, sendo
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
110
vistas como parte de um processo de legitimação do que vem sendo chamado de
“lideranças políticas”. Tal fato, contudo, pode ser tomado como um desdobramento das
várias condições que a maloca “tradicionalmente” colocava, condições que foram sendo
repensadas e reposicionadas em termos das relações hierárquicas. Em certo sentido, o
que as “hierarquias” em planos mais coletivos fazem é da mesma ordem de problemas
que ocorrem entre “irmãos mais velhos” e “mais novos” na maloca “tradicional” – o
universo é um modelo de maloca por outros meios, dizia S. Hugh-Jones (1979, 1995);
agora o universo aumentou, mas nem por isso deixou de ser o mesmo. 19
21 Mas como sustentar a ideia de que há um emparelhamento entre as hierarquias
tradicionais e uma reavaliação de papéis que esse contingenciamento político
acarretou? Embora a ideia da “perda” cultural pareça tentadora, e algumas vezes tenha
aparecido para nós em conversas, arriscamos que aquele é um ponto plausível, ao
notar, a partir da literatura, que, desde a narrativa mitológica até os movimentos
históricos de dispersão de diversos grupos, há uma “previsão estrutural” para as
permutações na “hierarquia” e as shifting scales – que vão da maloca ao grupo local, e
desse para os clãs, e desses para as etnias. Como Andrello (2012, 2016) tem apontado em
estudos recentes, a “hierarquia” congelada em posições a montante e a jusante dos rios,
como a colocavam as primeiras monografias regionais (p. ex. Goldman 1979 [1963];
Chernela 1993), sofreu constantes reavaliações com os grandes movimentos rio abaixo.
Nesse sentido, a cidade de São Gabriel da Cachoeira, palco dessa nova performance
política, parece também estar ao mesmo tempo sendo apropriada e colocando
combustível nas reavaliações do jogo tradicional que se fazia rios acima.
22 No entanto, toda essa movimentação ocorreu com uma certa tensão das “estruturas da
conjuntura” (Sahlins 1990) apontadas acima. Em um primeiro movimento, foi notável
que muitos desses novos agentes que ocupavam posições de destaque neste contexto
eram provenientes de clãs, digamos, “intermediários”. Além disso, esta nova dinâmica
que orbitava a maloca da FOIRN também colocou em pareamento uma série de grupos
étnicos que antes estavam apenas indiretamente conectados, mas agora ensaiam
alianças, trocas e conflitos recíprocos e comuns.
23 Nossa hipótese é a de que, por um lado, novos agenciamentos políticos provocaram um
certo reembaralhamento da “hierarquia”; de outro lado, a nova sinergia pan-étnica
resultante das alianças da FOIRN recolocou discussões latentes sobre a “hierarquia” dos
grupos da região. Evidentemente, há ainda muitos outros agentes, além da FOIRN, que
se entrelaçam nas alianças e sismogêneses locais. A FOIRN, no caso aqui tratado, de
certa maneira nos apresentou mais um dos elementos que compõem essa dinâmica, mas
de certo modo permitindo ver explicitamente a discussão conceitual indígena sobre
como estes planos se tornam um problema local. Além disso, como resultado desses
dois planos em interação, pretendemos ao menos lançar mão de argumentos iniciais
para se entender o papel dessa “nova classe média” rionegrina (uma zona inflada de
clãs intermediários) – algo que reavalia constantemente a “hierarquia” através de um
jogo político incerto.20
24 Entre outras coisas, concretamente, isto está também implicado num deslocamento do
eixo espacial da “hierarquia”: do gradiente baseado na localização na calha dos rios
para uma concentração urbana como a cidade de São Gabriel da Cachoeira, sede da
FOIRN. No entanto, é preciso ter cautela quanto à ideia de que este seria simplesmente
um fluxo migratório: em geral, as pessoas vão e voltam de São Gabriel para as
comunidades, sobretudo esses “líderes políticos”. Ou seja, o movimento literalmente
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
111
ocorre rio abaixo e rio acima; e, com ele, o centro de gravidade da sociologia rionegrina
parece então ter se tornado múltiplo.21 O ponto, assim, diz mais respeito ao fato de a
FOIRN ter se tornado um espaço que produz uma nova socialidade, e isso fica evidente
sobretudo na sua maloca.
De volta para o futuro
25 A grande maioria das “lideranças indígenas” fala abertamente sobre o tema da
“hierarquia”, mas o apresenta sempre como algo “problemático” para o movimento
indígena. Um tukano que já desempenhou diferentes funções na FOIRN diz, sobre a
“hierarquia” no movimento, o seguinte:
“Pode acontecer aqui no movimento indígena. Eu posso numa conversa mandar
calar a boca porque eu sou [de clã] superior. […] Pode vir à pauta, entendeu? Pode
ter uma reclamação assim: ‘Eu quero reclamar o meu direito original. Eu quero
dizer pra assembleia geral que se a FOIRN existe pra valorizar a tradição, existe pra
valorizar a nossa cultura, eu aceito concorrer nessa eleição com líderes chefes de
outras etnias. Eu sou tukano. Eu não quero ver concorrer comigo alguém de baixo
clã’ ”.
26 Embora este pareça ser um posicionamento isolado na FOIRN (pelo que vimos nos
últimos meses em campo, cada vez que falávamos a palavra “hierarquia”, várias pessoas
diziam: “É com ele que vocês têm que conversar”), cabe dizer que este é um dos poucos
tukanos de “alto clã” (isto é, um “irmão maior”) que ocupa cargos nela. Nesse caso, ele
levanta claramente uma ambiguidade do movimento, que ao mesmo tempo consiste em
reestruturar os papéis políticos nas formas de uma “organização democrática” e
sustentar um discurso de “valorização cultural” que, enfim, recoloca o problema das
hierarquias tradicionais.22
27 Se, pela fala transcrita acima, a “hierarquia” parece ser um problema que diz respeito
apenas aos clãs dentro de sua etnia (e, nesse ponto, os tukano parecem ter uma
“hierarquia” com mais grupos que outros), nos parece que isso se deve mais ao fato de
que ele colocava isto apenas como um problema relativo à “nova política” pan-étnica
do movimento. Pois ao tomarmos as narrativas, fica bem claro que a saída do “buraco
de transformação” – evento primordial de diferenciação dos grupos (cf. nota 12) – se dá
em consonância com ordens de nascimento diferentes para cada etnia, brancos
inclusive (ver, por exemplo, Sierra e Fulop 2009). É notável, assim, a adaptação
contextual que se opera quando se trata de posicionar o nível interétnico. Some-se a
isso que, se teoricamente cada um conhece sua posição dentro de seu clã e a deste
dentro de sua etnia, nem sempre ou quase nunca se sabe a posição ocupada
internamente pelos líderes de outras etnias.
28 Isso fica particularmente claro quando consideramos que grupos historicamente
considerados “inferiores”, como os baré, notavelmente assumiram posições de
protagonismo na FOIRN. Nesse sentido, não faltaram argumentos de que os baré “eram
brancos”, e assim chegavam a essas posições com facilidade (ver Nascimento 2017).
Porém, se olharmos para a cronologia das diretorias, dos 39 nomes que aparecem,
dentre presidentes, diretores, secretários e tesoureiros, contam-se onze barés, nove
baniwas, oito tukanos, cinco piratapuias, três tarianos, dois arapassos e um dessana. E,
como diz um ex-presidente da FOIRN (tukano),
“Eu cheguei na FOIRN num período em que todo mundo queria ser diretor. Era um
status. Eu não disputei pensando nisso. Mas, pra um cara que vinha de um lugar de
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
112
base, ser diretor era a melhor coisa que tinha aqui na cidade. E eu ocupei um espaço
desses. E fui entendendo depois. Teve muitos conflitos quando a gente entrou. Não
havia essa aceitação da etnia tukana pra assumir a direção”.
29 Cremos que o argumento de que há grupos “mais aptos” para lidar com essa nova
política é insuficiente para se entender tal situação. Note-se, por exemplo, que a
prefeitura de São Gabriel já teve eleitos dois tarianos como prefeitos (e um vice), e dois
baniwa como vices. Nunca teve, por exemplo, um baré. O que podemos afirmar com
certeza é que essas posições são muito variáveis e, em alguma medida, contingentes.
Nesse sentido, quando olhamos mais à frente na história da Federação, parece que, com
a sua consolidação enquanto instituição, em termos de expansão e burocratização,
passou-se de uma fórmula baseada no carisma pessoal para uma distribuição “racional-
legal” (no sentido weberiano) dos cargos, equacionando-os com uma lógica regional e
étnica. Os cargos, hoje em dia, devem “representar todos”, e uma diretoria da FOIRN
com, por exemplo, maioria baré ou tukana, idealmente, não deve acontecer. Assim
como, idealmente, disputas entre etnias ou clãs também não devem vir à tona em
reuniões ou eleições.
30 Uma outra colocação pode, digamos, complementar este ponto. Um baniwa que já foi
vice-presidente da FOIRN fala, por exemplo, que:
“Nós somos diferentes dos tukanos. [Neles] Quem nasce primeiro é que é grupo de
líder. Nosso caso, não. O do meio é que é líder. Por isso, os que nasceram primeiro é
que viraram os avós, os tios, né? Aí depois é que vêm os irmãos menores. A nossa
estrutura é diferente. […] E eu sou do meio, o pessoal diz. De um clã classificado
como de comando… de chefia e de comando. Guerreiro também”.
31 Ele diz que em relação às outras etnias não sabe exatamente a posição de seus
companheiros de movimento indígena e que entre os baniwa “há [no movimento] gente
de vários clãs… tem vários clãs, porque hoje o critério é mais a escolaridade”. É notório
que a literatura aponta de forma unânime para o fato de que entre os baniwa há uma
“hierarquia” baseada na ordem de nascimento em parte semelhante à dos tukanos, 23
mas, ainda assim, cabe notar que também se aponta para uma “certa permissividade”
em relação aos “guerreiros” baniwa (Wright 1981; Journet 1995), que tinham um papel
estruturalmente importante na condução das relações exteriores do grupo, a ponto de
permitir “englobamentos provisórios” de papéis de chefia e xamanísticos, como, por
exemplo, na condução de movimentos messiânicos (Wright 1981). Deste modo, a ideia
de que esse novo “papel político” pode ter ressonância com certos aspectos estruturais
não é de todo implausível.
32 Nesse sentido, o problema da “valorização cultural” parece ser mais um daqueles
paradoxos que não estão para ser resolvidos, pois atuam de maneira útil para que a
engrenagem que liga o passado ao futuro possa funcionar. As coisas não são lineares:
como é possível ver pelas próprias narrativas míticas do Rio Negro, os clãs volta e meia
torcem as ordens de nascimento de irmãos em tempos ancestrais para recontar a
história a seu favor. Nesse caso, a ideia de “valorizar a cultura” pressupõe a companhia
de um elemento estranho a ela própria: aquilo que de alguma maneira permite “uma
mudança estrutural na reavaliação das categorias nativas”, como diria M. Sahlins
(1990).24 Porém, ao contrário do Havaí, onde essa possibilidade repousa na figura de um
“rei/deus estrangeiro”, no ARN parece que isso desde sempre vem de uma espécie de
“vontade imanente”: “O índio sempre vai se envolver naquilo que não é dele”, lembrava
uma liderança indígena tukano já falecida.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
113
33 Essa percepção de que o movimento indígena não é exatamente “coisa de índio”
aparece em outras formulações que ouvimos, tais como “o movimento funciona como
um sindicato”, “há muito papel e muita burocracia no movimento”, “o movimento
funciona como organização de branco”, ou ainda, “o movimento indígena foi criado
para dialogar de frente com o Estado”. Contudo, é preciso ir além da noção trivial de
que o Estado é um agente “externo” ao mundo indígena (ou ao tal “mundo tradicional”,
digamos), bem como não cair na armadilha de supor que tais críticas nos conduzem
imediatamente à noção de “cópia” (vide a apresentação deste artigo).
34 Assim, não custa lembrar, voltando ao começo deste artigo, que o “sistema” rionegrino
há muito é pautado por um conjunto de relações exteriores entre as etnias. E, embora a
“exterioridade imanente” possa ser uma característica geral da Amazônia sul-
americana (Overing 1975; Castro 1993), no caso rionegrino parece que a “diplomacia” e
o jogo político de alianças talvez tenham se sobreposto ao idioma da guerra e da
predação que vemos alhures,25 e nesse sentido há uma consequência de como as
instituições brancas entraram “no interior” do idioma local. Deste ponto de vista, nos
parece bastante factível sustentar e ampliar a hipótese de C. Hugh-Jones (1979) de que,
face aos brancos, se promoveram mudanças internas na “hierarquia”; além disso, como
mostra nosso interlocutor baniwa, “a guerra” e a “política” podem ser vistas em
solução de continuidade, de modo que operar uma instituição de “branco” pode muito
bem representar um agenciamento ao mesmo tempo paradoxal e não contraditório: de
“volta para o futuro”, plus ça change, plus c’est la même chose. Nossa ideia, então, é que
esses movimentos correm “em paralelo”.
35 Para exemplificar esse movimento, podemos voltar à primeira instituição dos brancos
que promoveu transformações fundamentais no ARN: o ensino escolar promovido pelas
missões católicas. Todos os líderes do movimento indígena reiteram que um dos
atributos fundamentais à entrada no movimento é a escolaridade, e, como mencionado
acima, essa nova forma de saber passou a colocar questões para o establishment
hierárquico. No entanto, é preciso reiterar que a escolaridade ocorreu de certa maneira
pressionando a “hierarquia” para uma zona sombria, levando-se em conta que aquilo
que os salesianos pretendiam mesmo era, entre várias outras coisas, obliterar tudo o
que pudesse estar associado aos saberes tradicionais (benzimentos, rituais, trocas
econômicas e matrimoniais, e, com isso, as disposições em clãs, as chefias, a maloca, as
“hierarquias” entre os coletivos). No entanto, dialeticamente, o desdobramento ocorreu
apesar deste processo (ainda que não sem violência), inclusive acelerando uma
movimentação interna do status, pois iam estudar aqueles que não tinham uma posição
favorável nos clãs. Ainda assim, alguns chefes tradicionais, bem posicionados na
“hierarquia” de clãs, permaneceriam nas comunidades; os líderes “voltariam a elas”.
Este, de fato, é um movimento que não abole a “hierarquia”, mas em algo mexe com a
morfologia de sua “linha”.26
36 O que nos parece é que, em algum momento, criou-se o espaço para uma espécie de
aumento da entropia do “sistema”, em que tanto os atores quanto os agenciamentos da
política se multiplicaram. Por exemplo, um baniwa remete sua entrada e de seu irmão
no movimento indígena ao fato de saberem ler e escrever, o que fazia com que sempre
fossem chamados para escrever a programação de muitas reuniões. Além disso, como
na “escola haviam estudado associativismo”, acabavam falando nas reuniões para
“ajudar a esclarecer”. Segundo ele, aconteceu que “os novinhos foram treinando os
mais velhos”. Ele está falando da perspectiva baniwa de como aconteceu o movimento
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
114
indígena e de como se deu e se dá, nesse espaço, a relação entre os jovens e os mais
velhos – uma relação que em quase todas as etnias permaneceu tensa, por muito tempo,
no que se refere aos debates promovidos pelo movimento indígena e ao surgimento de
um novo tipo de liderança, mas também em relação a como isso poderia voltar para a
comunidade.
37 Outro líder indígena, tariano, relata que, quando trabalhava como técnico
agropecuário, nos anos 1980, ao chegar em uma comunidade era recebido pelo chefe,
que lhe fazia três perguntas: “Tu és neto de quem? Quem é teu pai? E quem é tua mãe?”
Através dessas três perguntas, o chefe sabia dizer qual era o grau de parentesco entre
eles e como deveria ser a relação. Atrás do chefe se formava então uma fila de “irmãos,
sobrinhos, netos” para cumprimentar o visitante, que era apresentado pelo chefe à
comunidade. Mas, com a valorização da formação escolar, “esse tipo de tratamento
perdeu força”, diz ele, “ao passo que se fortaleceu a figura de ‘presidente de
associação’ ”. Esta, segundo vários líderes, acabou se tornando uma liderança “muito
política, mas também muito burocrática, que sabe lidar e transitar em um universo que
não é o nosso”, o “universo dos documentos” (cf. Iubel 2015). Fica clara a sugestão de
que, ao mesmo tempo em que todo esse processo “racional-burocrático” assume uma
posição dentro do movimento, ele é “empurrado” para fora da visão do que consiste a
“comunidade”.
38 De outro modo, outro líder, tukano, fala que sempre buscou esclarecer aos mais velhos
e às pessoas da comunidade que a “estrutura da FOIRN não é uma estrutura nossa, dos
índios, desse modelo tradicional, de viver, de ter que coordenar ações e atividades
durante o tempo de um ano”. Essa era uma das prerrogativas do chefe tradicional, que
organizava a vida comunitária durante o ciclo anual. Uma fala de outro tukano é
ilustrativa dessa diferença, ou, pelo menos, de que há uma diferença:
“Talvez não tenha ficado clara a diferença entre você ser uma liderança tradicional
e ser uma liderança política. Essas duas coisas são diferentes… na minha família, no
meu clã, eu nunca vou ser uma liderança tradicional para governar a minha
comunidade. Vou ser sempre parte da comunidade, né? Porque tem um irmão mais
velho e depois tem o terceiro e o quarto. Eu só sou uma liderança política enquanto
eleito. Terminou o meu mandato, terminou. Fica na lembrança, né?”
39 Essa é uma questão que divide opiniões – se a “hierarquia” tradicional entre clãs e
etnias deve ou não interferir no movimento indígena.27 Como já foi apontado, muitas
vezes os líderes parecem não saber posicionar uns aos outros nessas estruturas
hierárquicas tradicionais, que são internas às etnias e clãs. Nesse sentido, a nova
conjuntura parece ter favorecido ainda mais a incerteza que já existia. Como nos disse
um líder, tukano,
“se o movimento indígena seguisse a ordem dos clãs para se organizar, talvez eu
nem estivesse no movimento, porque eu sou de um clã importante, mas acima do
meu clã ainda tem três grupos. Esses clãs primeiros, que deveriam estar aqui, não
estão. E nunca vão estar porque nunca tiveram vez. E nunca tiveram vez porque
nunca votei neles. Eles são muito bravos… eles estão em Iauaretê. Ficam lá, na deles.
No mundo atual, o perfil ideal é aquele do entendimento, do diálogo. É assim que eu
vejo. Pra mim, os clãs já não importam mais tanto. Por exemplo, na minha
comunidade, quem sempre deveria comandar éramos nós. Mas, acho que os
salesianos, cristãos, mudaram muito a nossa maneira de pensar. Você tem que ver
se o cara tem o perfil de dirigir uma comunidade ou uma organização. Uma vez, lá
em Taracuá, eu falei pro outro líder que ele não tinha usado bem um recurso, que
ele tinha que prestar contas e ele falou assim: ‘Vocês não têm condições de me
chamar a atenção porque eu sou de clã maior’. Falou um monte de coisa, né? Aí,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
115
depois, eu levantei e disse assim: ‘Essa questão de ser clã maior ou menor, nós
vamos deixar de lado, nós estamos falando de uma coisa burocrática que o Estado
brasileiro criou pra nós. Independente do seu clã, tem que prestar contas, porque,
senão, a associação vai ficar inadimplente por causa de você, que acha que é dono
sem ser dono’. Hoje, o que importa mais são os grupos – tukano, tariano, piratapuia,
etc. –, não interessa mais quem é maior e quem é menor. Tem que ver se o cara tem
o perfil de tocar o movimento. Não adianta chamar uma liderança tradicional que
sempre governou seu clã porque o cara não vai entender da política pública do
Estado. Nós vamos colocar aquele cara que entende, né? Então, essa questão de clãs
não influencia. Além disso, nenhum dos caras dos clãs maiores tukano teria
condições de chegar aqui na FOIRN”.
40 O que essa fala dá a entender é que o mundo ou “sistema” rionegrino, que sempre
esteve em transformação, mudou em outras direções a partir do movimento indígena e
da intensificação das relações com os brancos e suas instituições, na direção da criação
de um espaço onde atores e agenciamentos políticos se diversificaram e se
multiplicaram, fazendo surgir o que se pode chamar de uma “nova classe política”
rionegrina, ou aqueles a quem eles mesmos se referem como “novas lideranças
políticas”.28
Conclusão: a FOIRN e a “nova classe política”
41 De certa maneira, retraçando por alto a posição sociológica desses membros do
movimento (por exemplo, diretores da FOIRN), vemos que a grande maioria vem de clãs
intermediários, ou mesmo menores, e quase nunca são os primogênitos em seu grupo
doméstico. Deste modo, uma característica estrutural tradicional favoreceu o
engendramento desta nova posição, a partir do momento em que essa ampla “classe
intermediária” teve condições de construir uma política paralela ao jogo hierárquico, e
especialmente se contarmos a “hierarquia” tradicional como um fato que envolve
implicitamente alianças (de casamento, rituais, etc.), crescimento de grupos e
estratégias de ocupação em faixas de rio.
42 Algumas falas captadas em campo argumentavam que as classificações feitas pelos
“outros” (em referência às classificações internas às outras etnias) não interessam
muito. Mas isso pode ser, inclusive, um indício de que, ao fim das contas, todos sabem
que esse tipo de “controvérsia hierárquica” existe aqui e acolá, e que tais querelas se
resolvem (ou não) internamente. Deste modo, talvez no nível de uma aliança pan-étnica
como a FOIRN, a “hierarquia” seja deixada como um fator apenas residual, ainda que
não deixe de estar lá, operando como fundo de uma figura que pretende expor outras
características existentes. Podemos ver isso se realizando, por exemplo, em dois
caminhos. No primeiro, a ideia de que, se inicialmente a “hierarquia” favoreceu essa
saída alternativa de uma classe média em um contexto em que forçosamente se estava
em contato mais denso com os brancos, num segundo momento, essa mesma posição de
classe como um elemento “novo”, distinto do “tradicional”, portanto, tende a re-
reforçar as posições tradicionais, principalmente dos clãs “cabeça”.
43 No segundo caminho, complementar ao primeiro, vemos que o movimento é tomado às
vezes como “coisa de branco”, em referência ao seu modo de funcionamento,
excessivamente burocrático. Ainda assim, é preciso levar em conta uma passagem
generalizada na mitologia rionegrina em que o branco é também egresso da cobra-
canoa da qual emanam todos rionegrinos, ainda que tenha saído por último, e em
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
116
algumas versões (como a de Sierra e Fulop 2009) abarcando toda uma diversidade
(alemães, japoneses, colombianos, brasileiros, pretos, etc.). Ou seja, as “ferramentas”
utilizadas hoje pelo movimento indígena também estavam dentro da cobra-canoa, mas
foram destinadas aos brancos e talvez depois tenham se transformado: inicialmente era
a espingarda, hoje é bem capaz de ser a caneta, o notebook, o livro-ata ou a câmera de
vídeo. A guerra, assim, pode ter se convertido em política; mas a política, sabemos,
sempre pertenceu à maestria indígena – quem sumiu com a espingarda foram os
brancos, afinal. O movimento, assim, corresponde a algo que sempre foi de lá e sempre
esteve lá, e ainda por cima acertadamente previsto como algo de “irmãos menores”.
44 Como exemplos desses movimentos, nos pormenores, vimos que alguns líderes
expressam que há certa confusão entre as prerrogativas de um líder tradicional e as de
um líder político, e que, idealmente, essas figuras não devem se confundir. Eles dizem
que, muitas vezes, “um presidente de associação acha que pode tudo. Não é assim que
funciona o sistema indígena. Se levar desse jeito, é uma prática que não é nossa”. A boa
medida para uma liderança política parece estar em uma atitude “menos ambiciosa”,
“mais humilde”, e na constante “consulta aos mais velhos”. Um presidente de
associação, idealmente, não deve achar que por ter sido eleito manda na associação, na
comunidade ou em algum projeto. Ele deve se sentir parte dessas instâncias, mas não
uma parte privilegiada ou que deva ser mais valorizada. Ou seja, espera-se também das
lideranças políticas características da chefia indígena já apontadas por Clastres (2003),
tais como a humildade e a não ostentação de uma suposta posição privilegiada. No
entanto, no movimento indígena, somam-se a essas características novas capacidades e
habilidades. Parece-nos assim, finalmente, que a política em São Gabriel esteve e está
sendo alvo de uma constante experimentação, tal como a hierarquia.
Receção da versão original / Original version
2017 / 03 / 21
Receção da versão revista / Revised version
2017 / 12 / 11
Aceitação / Accepted 2018 / 04 / 11
BIBLIOGRAFIA
ALBERT, Bruce, 2001, “Associações indígenas e desenvolvimento sustentável na Amazônia
brasileira”, Povos Indígenas no Brasil 1996/2000. São Paulo, Instituto Socioambiental, 197-207.
ALÈS, Catherine, 2013, “ ‘Le papier, nous, on ne sait même pas ce que c’est’: nomination, identités
et transformations politiques en Amazonie vénézuélienne”, apresentado no colóquio
“Amerindians, Law and the State”, Madrid.
ALLARD, Olivier, 2012, “Bureacratic anxiety: asymmetrical interactions and the role of
documents in the Orinovo delta, Venezuela”, Hau: Journal of Ethnographic Theory, 2 (2): 235-256.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
117
ALLARD, Olivier, e Harry WALKER, 2016, “Paper, power, and procedure: reflections on Amazonian
appropriations of bureaucracy and documents”, The Journal of Latin American and Caribbean
Anthropology, 21 (3): 402-413.
ANDRELLO, Geraldo, 2006, Cidade do Índio: Transformações e Cotidiano em Iauaretê. São Paulo e Rio de
Janeiro, Editora UNESP/ISA e NuTI.
ANDRELLO, Geraldo, 2012, “Histórias tariano e tukano: política e ritual no Rio Uaupés”, Revista de
Antropologia, 55: 291-330.
ANDRELLO, Geraldo, 2013, “Origin narratives, transformation routes: heritage, knowledge and
(a)symmetries on the Uaupés river”, Vibrant, 10 (1): 495-528.
ANDRELLO, Geraldo, 2016, “Nomes, posições e (contra) hierarquia: coletivos em transformação no
alto Rio Negro”, Revista Ilha, 18 (2): 57-97.
BROWN, Michael, 1993, “Facing the State, facing the world: Amazonia’s native leaders and the
new politics of identity”, L’Homme, 126-128: 307-326.
BUCHILLET, Dominique, 1991, “Pari Cachoeira: o laboratório tukano do projeto Calha Norte”, em
Povos Indígenas no Brasil, 1987/88/89/90. São Paulo, Centro Ecumênico de Documentação e
Informação (CEDI), 107-115.
CABALZAR, Aloísio, 2009, Filhos da Cobra de Pedra: Organização Social e Trajetórias Tuyuka no Rio
Tiquié (Noroeste Amazônico). São Paulo e Rio de Janeiro, Editora da UNESP/ISA e NuTI.
CASTRO, Eduardo Viveiros de, 1993, “Alguns aspectos da afinidade no dravidianato amazônico”,
em E. Viveiros de Castro e M. Carneiro da Cunha (orgs.), Amazônia: Etnologia e História Indígena. São
Paulo, NHII/USP, 149-210.
CAYÓN, Luis, 2009, “Mercadorias, guerras, comedores de gente e seringueiros: história do contato
interétnico no baixo Apapóris (séculos XVIII-XX)”, em M. I. Smilijanic, J. Pimenta e S. G. Baines
(orgs.), Faces da Indianidade. Curitiba, Nexo Design, 39-66.
CAYÓN, Luis, 2013, Pienso, Luego Creo: La Teoria Makuna del Mundo. Bogotá, Instituto Colombiano de
Antropologia e Historia.
CHAUMEIL, Jean-Pierre, 1990, “ ‘Les nouveaux chefs’: pratiques politiques et organisations
indigènes en Amazonia pèruvienne”, Problèmes d’Amérique Latine, 96 (2): 93-113.
CHERNELA, Janet, 1993, The Wanano Indians of the Brazilian Amazon. Austin, Texas University Press.
CLASTRES, Pierre, 2003, A Sociedade contra o Estado. São Paulo, Cosac Naify.
CUNHA, Manuela Carneiro da, 2009, Cultura com Aspas e Outros Ensaios. São Paulo, Cosac Naify.
FAUSTO, Carlos, 2008, “Donos demais: maestria e domínio na Amazônia”, Mana, 14 (2): 329-366,
disponível em http://www.scielo.br/pdf/mana/v14n2/a03v14n2.pdf (última consulta em junho
de 2019).
FOIRN/ISA – Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e Instituto Socioambiental,
2006, Povos Indígenas do Rio Negro: Uma Introdução à Diversidade Socioambiental do Noroeste da
Amazônia Brasileira. São Paulo e São Gabriel da Cachoeira, FOIRN/ISA.
GALLOIS, Dominique Tilkin, 2001, “Nossas falas duras: discurso político e auto-representação
Waiãpi”, em B. Albert e A. Ramos (orgs.), Pacificando o Branco: Cosmologias do Contato no Norte
Amazônico. São Paulo, Editora da Unesp/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/IRD, 205-238.
GARNELO, Luiza, 2002, “Tradição, modernidade e políticas públicas no alto Rio Negro”, Somanlu,
4 (1): 29-53.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
118
GARNELO, Luiza, 2003, Poder, Hierarquia e Reciprocidade: Saúde e Harmonia entre os Baniwa do Alto Rio
Negro. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz.
GOLDMAN, Irving, 1979 [1963], The Cubeo: Indians of the Nortwhest Amazon. Urbana, University of
Illinois Press.
GOLDMAN, Irving, 2004, Cubeo Hehénewa Religious Thought: Metaphysics of a Northwestern Amazonian
People. Nova Iorque, Columbia University Press.
HILL, Jonathan, 1987, “Wakuénai ceremonial exchange in northwest Amazon”, Journal of Latin
American Lore, 13 (2): 183-224.
HUGH-JONES, Christine, 1979, From the Milk River: Spatial and Temporal Processes in North-West
Amazonia. Cambridge, Cambridge University Press.
HUGH-JONES, Stephen, 1979, The Palm and the Pleiades: Initiation and Cosmology in North-West
Amazonia. Cambridge, Cambridge University Press.
HUGH-JONES, Stephen, 1995, “Inside-out and back-to-front: the androgynous house in Northwest
Amazonia”, em J. Carsten e S. Hugh-Jones (orgs.), About the House: Lévi-Strauss and Beyond.
Cambridge, Cambridge University Press, 226-252.
HUGH-JONES, Stephen, 2012, “Escrever na pedra, escrever no papel”, em G. Andrello (org.), Rotas
de Criação e Transformação: Narrativas de Origem dos Povos Indígenas do Rio Negro. São Paulo e São
Gabriel da Cachoeira, Instituto Socioambiental/Federação das Organizações Indígenas do Rio
Negro, 138-167.
HUGH-JONES, Stephen, Cristiane LASMAR, e Cesar GORDON, 2015, “Um antropólogo da civilização
amazônica: entrevista com Stephen Hugh-Jones”, Sociologia e Antropologia, 5 (3): 627-658.
IUBEL, Aline, 2015, Transformações Políticas e Indígenas: Movimento e Prefeitura no Alto Rio Negro. São
Carlos, Universidade Federal de São Carlos, tese de doutorado.
JACKSON, Jean, 1983, The Fish People: Linguistic Exogamy and Tukanoan Identity in Northwest
Amazonia. Cambridge, Cambridge University Press.
JOURNET, Nicolas, 1995, La paix des jardins: structures sociales des indians Curripaco du haut Rio Negro,
Colombie. Paris, Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme.
KELLY, José Antonio, 2005, “Notas para uma teoria do ‘virar branco’ ”, Mana, 11 (1): 201-234,
disponível em http://www.scielo.br/pdf/mana/v11n1/25696.pdf (última consulta em junho de
2019).
LASMAR, Cristiane, 2005, De Volta ao Lago de Leite: Gênero e Transformações no Alto Rio Negro. São
Paulo e Rio de Janeiro, Editora da Unesp/ISA e NuTI.
LAUER, Matthew, 2006, “State-led democratic politics and emerging forms of Indigenous
leadership among the Ye’kwana of the upper Orinoco”, Journal of Latin American Anthropology,
11 (1): 51-86.
LEACH, Edmund R., 1967 [1954], Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social
Structure. Boston, Beacon Press.
LEACH, Edmund R., 2005 [1951], “As implicações estruturais do casamento com a prima-cruzada
matrilateral”, em E. R. Leach, Repensando a Antropologia. São Paulo, Perspectiva, 89-159.
LEIRNER, Piero, 2018, “Contração e expansão e a dialética do parentesco Tukano”, Anuário
Antropológico, 43 (1): 123-154.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
119
L’ESTOILE, Benoît, 2015, “La réunion comme outil et rituel de gouvernement: conflits
interpersonnels et administration de la réforme agraire au Brésil”, Genèses, 98: 7-27.
LUCIANO, Gersem José dos Santos, 2006, “Projeto É como Branco Trabalha; As Lideranças que Se Virem
para Aprender e nos Ensinar”: Experiências dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro. Brasília, Universidade
de Brasília, dissertação de mestrado.
MARTÍN, Johanna Gonçalves, 2016, “Opening a path with papers: Yanomami health agents and
their use of medical documents”, The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 21 (3):
434-456.
NAHUM-CLAUDEL, Chloe, 2016, “The to and for of documents: vying for recognition in Enawene-
nawe dealings with the Brazilian State”, The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology,
21 (3): 478-496.
NASCIMENTO, Luiz Augusto Sousa, 2017, Patrões, Fregueses e Donos: Economia e Xamanismo no Médio
Rio Negro. São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, tese de doutorado.
OAKDALE, Suzanne, 2004, “The culture-conscious Brazilian Indian: representing and reworking
Indianness in Kayabi political discourse”, American Ethnologist, 31 (1): 60-75.
OLIVEIRA, Melissa, no prelo, “Maloca-escola: transformations of the house among the Tukano,
northwest Amazonia”, Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America.
OVERING, Joanna, 1975, The Piaroa: A People of the Orinoco Basin. Oxford, Clarendon Press.
PERES, Sidnei Clemente, 2003, Cultura, Política e Identidade na Amazônia: O Associativismo Indígena no
Baixo Rio Negro. Campinas, Unicamp, tese de doutorado.
PIMENTA, José, 2002, “Índio Não É Todo Igual”: A Construção Ashaninka da História e da Política
Interétnica. Brasília, Universidade de Brasília, tese de doutorado em Antropologia.
PIMENTA, José, 2009, “Parceiros de troca, parceiros de projetos: o ayompari e suas variações
entre os Ashaninka do Alto Juruá”, em M. I. Smilijanic, J. Pimenta e S. G. Baines (orgs.), Faces da
Indianidade. Curitiba, Nexo Design, 101-126.
REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo, 1971, Amazonian Cosmos: The Sexual and Religious Symbolism of the
Tukano Indians. Chicago, University of Chicago Press.
RODRIGUES, Raphael, 2012, Relatos, Trajetórias e Imagens: Uma Etnografia em Construção dos Ye’pâ-
Masa do Baixo Uaupés (Alto Rio Negro). São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, dissertação
de mestrado.
SAHLINS, Marshall, 1990, Ilhas de História. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.
SIERRA, Manuel, e Marc FULOP, 2009, “Cosmogonia”, em Marc Fulop, Aspectos da Cultura Tukano:
Cosmogonia e Mitologia. Manaus, Edua, 21-70.
SOARES, Renato Martelli, 2012, Das Comunidades à Federação: Associações Indígenas do Alto Rio Negro.
São Paulo, Universidade de São Paulo, dissertação de mestrado.
WALKER, Harry, 2015, “Justice and the dark arts: law and shamanism in Amazonia”, American
Anthropologist, 117 (1): 47-58.
WALKER, Harry, 2016, “Documents and displaiced voice: writing among Amazonian Urarina”, The
Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 21 (3): 414-433.
WRIGHT, Robin, 1981, History and Religion of the Baniwa Peoples of the Upper Rio Valley. Stanford, CA,
Stanford University, tese de doutorado.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
120
ZOPPI, Miranda J. O., 2012, A Parte, o Partido e a Divisão dos Kaxinawá: O Índio Político e a Política
Partidária. Rio de Janeiro, Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, dissertação
de mestrado.
NOTAS
1. Aline Iubel beneficiou de uma bolsa de pós-doutorado da FAPESP. Gostaríamos de agradecer
aqui as leituras e críticas de Geraldo Andrello e dos pareceristas anônimos da Etnográfica.
2. Para se ter uma noção um pouco mais precisa da escala dessas relações, a região etnográfica do
alto Rio Negro é frequentemente descrita como um complexo multilinguístico e multiétnico
localizado no noroeste amazônico, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, compreendendo
uma vasta área. Geograficamente, é formada pelas bacias hidrográficas do rio Negro e diversos
afluentes, tais como o Uaupés, o Içana, o Xié, o Tiquié e outros. Como é de amplo conhecimento
pela literatura, as diferentes etnias formam um conjunto relacional que inclui trocas econômicas
e cerimoniais (S. Hugh-Jones 1979), casamentos (Chernela 1993; Cabalzar 2009) e conflitos
(Andrello 2006). Todas estas movimentações, se colocadas no panorama de um sobrevoo regional,
articulam 23 etnias, com diferentes línguas que formam uma base importante (embora não seja a
única) para a sua autodefinição identitária. São assim quatro as famílias linguísticas (e
respectivas etnias): arawak (cujas etnias são: baniwa, coripaco, warekena, tariano – atualmente
adotou o tukano como língua – e baré – que há muito fala nheengatu); tukano oriental (arapaso,
bará, barasana, desana, karapanã, kubeo, makuna, miriti-tapuya, piratapuia, siriano, tukano,
tuyuka, kotiria/wanano); maku (hup/hupda, yuhup, döw, nadöb); além desses, há os yanomami,
que se situam de maneira transversa ao conjunto, e por isso sua articulação deve ser tomada com
cautela. Como veremos, há um tanto de incertezas sobre “se”, “quando”, “onde” e “como” tais
grupos se constituem enquanto “etnias”. Ver, nesse sentido, o artigo de Andrello (2016).
3. No ARN, a oposição entre indígenas e não indígenas é expressa nos termos de uma oposição
entre índios e brancos. Tanto no que se refere a pessoas quanto no que se refere a instituições,
coisas e conhecimentos, por exemplo. Isso já foi notado por outros pesquisadores, como Lasmar
(2005). No tocante às instituições, há um fato que merece atenção e que reforça a opção que
fazemos neste artigo por tratar algumas pela alcunha de “instituições de branco” ou “dos
brancos”. Trata-se do fato que, desde que algumas dessas instituições externas avançaram sobre
o mundo rionegrino – missões religiosas, exército, mineradores, agências estatais, Funai, política
partidária, dentre outras –, as tentativas dos índios do ARN de, ao mesmo tempo, incorporarem
tais instituições e serem incorporados por elas, são várias. É assim que vemos, desde os anos 1980,
índios da região atuando em diferentes cargos e funções em órgãos como a Funai, em secretarias
estaduais, como professores, se ordenando padre, se formando pastores evangélicos, bem como
participando ativamente da política partidária (como eleitores e candidatos).
4. Ver, por exemplo, entre outros, Gallois (2001) para os wajãpi; Pimenta (2002) para o caso
ashaninka; Oakdale (2004) para os kayabi; Lauer (2006) para os yekwana; Kelly (2005) para o caso
yanomami; Zoppi (2012) para o caso kaxinawá; Peres (2003) para o próprio caso rionegrino;
discussões mais gerais podem ser vistas em Chaumeil (1990) para o caso das organizações
indígenas peruanas; Brown (1993) e Albert (2001) para outros casos amazônicos.
5. Para saber mais sobre as tradicionais malocas rionegrinas, ver Goldman (1979 [1963]); S. Hugh-
Jones (1995) e Cayón (2013).
6. Master, mas como em master of animals, papel atribuído ao xamã, com semelhanças bem
conhecidas ao longo da Amazônia, como mostra Fausto (2008).
7. No entanto, uma das dificuldades que ela enfrentou foi a ausência, no momento da pesquisa, de
três dos cinco papéis – chefe, guerreiro e servo – a respeito dos quais ela escreveu a partir de
fontes indiretas, incluindo afirmações sobre o passado. Segundo a autora, o caso do guerreiro era
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
121
o mais problemático, já que o papel dos chefes e servos ainda podia ser observado, mesmo que de
forma atenuada, por exemplo na relação entre um líder importante de maloca e um jovem
“residente extra”.
8. O uso dos termos sib ou clã pode variar conforme os autores, bem como outras divisões
internas em diferentes escalas (fratria, grupo frátrico, grupo exogâmico, grupo local, grupo
linguístico, etc.), conforme mostra Cabalzar (2009: 67-88). Estas variações são, possivelmente,
parte do problema suscitado pelas visões locais das diferentes etnografias e seus modelos em
relação ao “sistema” rionegrino. Quanto a isso, ver também Andrello (2016).
9. A noção de grupo local, usada especialmente a partir das monografias do casal Hugh-Jones
(C. Hugh-Jones 1979; S. Hugh-Jones 1979), é claramente tributária da noção de “grupos de
descendência local”, formulada por Leach (2005 [1951]: 92 e ss.).
10. Trata-se, assim, de um campo de possibilidades abertas à manipulação.
11. Como em um sistema tipicamente dravidiano, a onomástica dos grupos rionegrinos parece
colaborar para um modelo de gerações alternadas, em que neto = avô, garantindo assim certa
precisão até G+/–2. A sobreposição das gerações ascendentes e descendentes acima e abaixo pelo
idioma da germanidade parece contribuir assim para uma espécie de skeewing rule, nem
totalmente horizontal, nem totalmente vertical, mas transversal (ver Leirner 2018).
12. Trata-se das versões dos mitos que narram a ordem de saída de um “buraco de
transformação” primordial, quando a humanidade em sua forma atual emergiu. Esta ordem se
espelha em toda a terminologia para a classificação de “irmão maior” e “menor”. Voltaremos a
isto ao longo do texto. Para uma noção destas controvérsias, ver, por exemplo, lado a lado, as
diferentes narrativas compiladas pela FOIRN na coleção “Narradores Indígenas do Rio Negro”.
13. Nesse sentido, I. Goldman chama a atenção também para o contraste entre dois tipos de
chefia: o velho e o novo. Isto, adiantamos, também dá uma noção de que as posições sociais estão
sempre em transformação e que o tempo tem um papel fundamental nesse processo. O velho tipo
era, segundo o autor, o líder frátrico: conhecido como o mais velho, em deferência à descida, e
como o cabeça, no que diz respeito ao seu lugar no reino metafórico da anaconda e do rio. O novo
tipo teria um duplo significado, de senhor e dono: seria o chefe de uma comunidade (sib), uma
posição de responsabilidade local, mas que não tem gerência em outras esferas, lidando
fundamentalmente com questões práticas da vida cotidiana (Goldman 2004: 98 e ss).
14. Esta é uma informação revelada por uma série de depoimentos. Por exemplo: “Eu era o
6.º irmão, mais novo, e por isso fui mandado para estudar em São Gabriel. A partir daí tive
experiências e viajei por vários lugares, estudei várias línguas e ocupei um papel importante de
tradutor, ajudei a estabelecer uma gramática tukano, vi o movimento começar, aqui em São
Gabriel mesmo…”
15. Este, por exemplo, nos parece ser o caso de Álvaro Tukano, que ficou nacionalmente
conhecido como uma importante liderança indígena a partir dos anos 1980. Entre outras coisas,
ele passou a se autodenominar “Doétiro”, que pode ser, dependendo da versão, o “irmão maior”
da primeira geração tukano depois da emergência do buraco de transformação.
16. Quanto a isso, em relação ao cenário etnográfico rionegrino, ver Garnelo (2002, 2003), Peres
(2003), Soares (2012) e Iubel (2015). Para outros contextos, ver especialmente, Allard (2012), Alès
(2013), L’Estoile (2015), Walker (2015, 2016), Allard e Walker (2016), Nahum-Claudel (2016) e
Martín (2016).
17. Para saber mais sobre a fundação da FOIRN e o crescimento do número de associações, ou
ainda sobre a consolidação do movimento indígena na região, ver a dissertação de mestrado de
Renato Martelli Soares (2012) e o próprio site da Federação: www.foirn.org.br. Sobre o movimento
indígena no alto Rio Negro, ver também Peres (2003), Garnelo (2003) e Luciano (2006).
18. Uma boa fonte de informação sobre os processos de declarações de ocupação, demarcação e
homologação das Terras Indígenas na região do Rio Negro está disponível em Buchillet (1991) e
FOIRN/ISA (2006). Resumidamente, o grande marco desse processo foi a homologação de cinco
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
122
Terras Indígenas – Médio Rio Negro I, Médio Rio Negro II, Rio Téa, Rio Apapóris e Alto Rio
Negro –, no ano de 1998, em uma cerimônia realizada na maloca da FOIRN. Contígua a essas, a
Terra Indígena do Balaio foi homologada em 2009 e a Terra Indígena Cué-Cué/Marabitanas,
declarada em 2013, aguarda sua homologação. Todas essas sete TIs ficam no município de São
Gabriel da Cachoeira, somando 9.998.045 hectares (cerca de 90% da extensão territorial do
município).
19. Ver também a entrevista de S. Hugh-Jones, na qual ele afirma categoricamente que a maloca é
o universo (Hugh-Jones, Lasmar e Gordon 2015). Assim, reafirma-se o significado da maloca da
FOIRN e sua relação com o universo e o mundo no qual os indígenas vivem hoje, marcado pelo
movimento indígena e suas políticas.
20. Rodrigues (2012) e Leirner (2018) tentam demonstrar que ocorre uma inflação de clãs através
de transformações no xamanismo e no parentesco.
21. Cabe esclarecer aqui que a área de atuação da FOIRN abrange a bacia do rio Negro, que
compreende os municípios de Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira. No entanto, é
verdade que os nexos relacionais não necessariamente se adequam a essas divisões municipais, e
mesmo nacionais. A história destes processos no Rio Negro, bem como de outros anteriores, como
os “descimentos” que aconteciam desde o período colonial, está bem detalhada em Andrello
(2006), FOIRN/ISA (2006) e Cayón (2009).
22. “Organização democrática” e “valorização cultural” foram expressões usadas pela mesma
liderança indígena cujo trecho de entrevista está transcrito acima, por isso aparecem grafados
entre aspas. Apenas uma ressalva: assim como a “hierarquia” é objeto de enorme controvérsia
entre os próprios indígenas, tampouco a noção acima de “democracia”, acionada por aquela
“liderança indígena”, representa necessariamente uma concepção pacífica do termo. Democracia
representativa? Direta? Assembleia? Este seria um ponto para mais uma pesquisa, não só no Rio
Negro, aliás. De todo modo, é preciso aqui muita cautela para não se deixar levar pelo construto
de que estamos diante de um par de oposição “hierarquia/igualdade”. Voltaremos a isso ao fim.
23. Embora ela seja um pouco mais flexível, graças a uma “igualdade” entre “fratrias” que
contrasta com a hierarquia entre sibs (Hill 1987; Garnelo 2003).
24. Claro que a ideia de “valorizar a própria cultura” não é uma prerrogativa do Rio Negro, quiçá
indígena. No entanto, nos parece válido pensar não só o “porquê” – como aliás o fez Manuela
Carneiro da Cunha (2009) –, mas também o “como” se faz isso por lá. Nesse sentido, como
veremos, há toda uma ambiguidade a respeito do movimento “ser” e/ou “não ser” “coisa de
índio”.
25. Ver, nesse sentido, a entrevista de S. Hugh-Jones, onde ele mostra justamente marcas dessa
região que divergem do resto da Amazônia (Hugh-Jones, Lasmar e Gordon 2015).
26. Tal é o ponto explorado, por exemplo, por pesquisas que têm se interessado pelos processos
de pesquisa e educação que ocorrem no contexto rionegrino. Hoje, com muitas diferenças em
relação ao internato salesiano, há um complexo jogo entre aquisições de novos conhecimentos –
tanto indígenas quanto ocidentais – e o controle da informação. Conhecimentos adquiridos por
vias não usuais (que tradicionalmente se dão na roda de caxiri, nas conversas de noite em que o
mais novo necessariamente escuta e nunca pergunta) podem abrir, para aquele que os adquiriu,
novas possibilidades de manipulação de categorias, como, por exemplo, aquelas que dão
sustentação à própria hierarquia (cf. Oliveira 2018 no prelo).
27. Renato Martelli Soares (2012) demonstra bem o quanto essa é uma questão que divide
opiniões na FOIRN, salientando, no entanto, que oficialmente (em seu estatuto e regimento
interno) a federação não prevê que preceitos tradicionais políticos sejam meios de a FOIRN se
organizar politicamente.
28. Cayón (2013: 128) também demonstra que processos de diferenciação social têm se
incrementado: “se ha dado mayor poder político local a los nuevos especialistas que ocupan
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
123
posiciones relacionadas con la interacción con los blancos y se ha dejado de lado políticamente a
algunas de las autoridades tradicionales”.
RESUMOS
Este artigo busca refletir sobre algumas transformações que diferentes grupos indígenas do alto
Rio Negro (Amazonas, Brasil) vêm experimentando, especialmente desde os anos 1980, no tocante
à compreensão que eles têm de uma “hierarquia” entre eles. Fundamentalmente, isso vem
ocorrendo no mesmo passo em que se embaralha a ela uma série de elementos que eles chamam
de “políticos”, sobretudo a partir da consolidação de um movimento indígena cujo centro de
gravidade está localizado na Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN). A
partir desta, vemos como novas “lideranças” abrem um caminho paralelo a posições tradicionais,
ao mesmo tempo que dialeticamente trabalham para sua manutenção em um lugar de “tradição
cultural”, assegurando seu status original. Com isso, nosso argumento gira em torno do fato que o
efeito colateral desse agenciamento em duas direções é uma “inflação” de uma nova classe
política, correspondente a certas posições de “status mediano”, ao mesmo tempo que ocorre uma
retificação das posições de “alta hierarquia” no complexo mutiétnico rionegrino.
This article aims to reflect on some transformations that different indigenous groups of the
upper Rio Negro (Amazonas, Brazil) have been experiencing especially since the 1980s, with
regard to their understanding of a “hierarchy” between them. Fundamentally, this is happening
as that “hierarchy” is shuffled with a set of elements that they might call “political,” especially
upon the consolidation of indigenous movement in the Federation of Indigenous Organizations of
Rio Negro (FOIRN). From the FOIRN, we see how new “leaderships” open a parallel path to
traditional positions, while at the same time they dialectically work for their maintenance in a
place of “cultural tradition,” assuring an original status. With this, our argument turns around
the fact that the side-effect of this double-way agency is an “inflation” of a new political class
corresponding to certain positions of “middle status,” while simultaneously there occurs a
rectification of “higher hierarchy” positions in the multiethnic complex.
ÍNDICE
Keywords: hierarchy, politics, indigenous movement, upper Rio Negro
Palavras-chave: hierarquia, políticas, movimento indígena, alto Rio Negro
AUTORES
ALINE IUBEL
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil
alineiubel@gmail.com
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
124
PIERO LEIRNER
Departamento de Ciências Sociais, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social,
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Brasil
pierolei@gmail.com
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
125
Memória
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
126
Sobre a distância entre a “situação
colonial” em Moçambique e o luso-
tropicalismo: carta de António Rita
Ferreira para Jorge Dias, com artigo
anexo
On the distance between the “colonial situation” in Mozambique and the luso-
tropicalism: letter of António Rita Ferreira to Jorge Dias, with attached article
Cláudia Castelo e Vera Marques Alves
Introdução
1 António Rita Ferreira (português, n. Mata de Lobos, 1922 – m. Bicesse, 2014),
funcionário colonial e antropólogo e sociólogo autodidata,1 viveu em Moçambique
desde os dois anos de idade até 1977.2 Ao conhecimento das realidades humanas, sociais
e históricas desse território dedicou toda a sua obra, mas permanece um quase
desconhecido no meio das ciências sociais portuguesas, apesar dos trabalhos de Rui
Mateus Pereira, que há cerca de 30 anos tem vindo a destacar a singularidade do
percurso de Rita Ferreira – “porventura o mais esclarecido etnógrafo dos tempos
coloniais em Moçambique” (Pereira 2001) – e a qualidade imprevista da sua monografia
etnográfica sobre os Zimba (Pereira 2016), elaborada no âmbito do concurso para
administrador de circunscrição. Um capítulo da tese de doutoramento de Pereira (2005:
366-384) é dedicado a Rita Ferreira, “etnólogo do Governo” de Moçambique. Lorenzo
Macagno (1999, 2015, 2016) tem estudado a polémica entre Rita Ferreira e Marvin
Harris – também estudada por Pereira (1986) –, a propósito do movimento migratório
do Sul de Moçambique para a África do Sul, mas o seu enfoque incide no antropólogo
norte-americano. Nuno Domingos (2013), por sua vez, também abordou alguns aspetos
da obra de Rita Ferreira, analisando em particular a sua investigação sobre a condição e
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
127
as possibilidades de enquadramento social da população africana na Lourenço Marques
dos anos 60.
2 Caso ímpar de antropólogo amador (também no sentido afetivo) em Moçambique
colonial e, até ver, no conjunto do império, a integração de Rita Ferreira numa história
da antropologia portuguesa que extravase a antropologia académica poderá contribuir
para uma visão mais abrangente e complexa da antropologia produzida nas colónias
portuguesas na era da descolonização. De resto, como já defenderam vários autores
(ver, por exemplo, Pels e Salemink 1994), a análise das práticas e dos discursos
etnográficos que missionários, administradores e funcionários coloniais desenvolveram
em locais e momentos históricos específicos é essencial a qualquer entendimento da
relação entre a disciplina antropológica e o colonialismo. Só deste modo, como também
sugeriu George Stocking, Jr. (1991: 5), se conseguirá explorar a efetiva variedade de
formas de relacionamento entre a antropologia e o fenómeno colonial, evitando as
generalizações simplistas que, tantas vezes, têm dominado o debate sobre o tema.
3 Reveladora da atividade de Rita Ferreira no domínio da antropologia e da rede
científica que foi tecendo, a sua correspondência com académicos portugueses e
estrangeiros só parcialmente está disponível ao público no site “Casa Comum”, da
Fundação Mário Soares.3 Parte significativa das cartas permanece na posse dos seus
filhos, João e Filipe Rita Ferreira, sendo possível a consulta a pedido, através dos
contactos disponibilizados no site “António Rita Ferreira”. 4 A sua correspondência ativa
e passiva encontra-se inédita e apenas as missivas que trocou com Marvin Harris foram
fonte de pesquisa.5
4 A carta que agora se publica faz parte do conjunto de cartas de Rita Ferreira para Jorge
Dias existente no espólio do professor e antropólogo português no Museu Nacional de
Etnologia, conjunto esse que Vera Marques Alves localizou e estudou no âmbito do
projeto de investigação “Ciências de campo no terreno ‘luso-tropical’: conhecimento,
ideologia, governo no império colonial português tardio”, coordenado por Cláudia
Castelo.6 A carta e o anexo foram transcritos por Cláudia Castelo e Alexandra
Raimundo, com respeito pela grafia original, e são acompanhados por notas de rodapé
pontuais que visam esclarecer informação subentendida no texto.
5 No verão de 1956, António Jorge Dias, à época professor ordinário do Instituto Superior
de Estudos Ultramarinos (ISEU) e vogal do Centro de Estudos Políticos e Sociais (CEPS)
da Junta das Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar (JIU), visitou
Moçambique pela primeira vez. O objetivo era proceder à “prospecção das minorias
étnicas chinesa, maometana e indiana” e traçar um plano de trabalhos de campo para o
triénio seguinte.7 Foi uma espécie de viagem exploratória, que antecedeu o lançamento
da Missão de Estudo das Minorias Étnicas do Ultramar Português. Informado pelo
tenente, e também antropólogo, Simões Alberto de que Jorge Dias queria “contactar
com os indivíduos que na província se dedicavam a pesquisas sobre as populações
nativas”, assim como “travar conhecimento com os antropólogos sul-africanos”, Rita
Ferreira convida-o para passar dois ou três dias em Sabie, Transvaal Oriental, União da
África do Sul, onde exercia o cargo de administrador interino na Curadoria dos
Negócios Indígenas.8 Por motivos que não apurámos, Dias não se encontrou com Rita
Ferreira nessa ocasião. Um ano depois, Rita Ferreira escrevia: “Estou verdadeiramente
ansioso por conhecer V. Ex.cia pessoalmente e, como antropólogos, conversarmos sobre
certos aspectos sociológicos de Moçambique. A gravidade de certos problemas é
verdadeiramente grande”.9
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
128
6 No espólio de Dias encontram-se 21 cartas de Rita Ferreira, escritas entre 11 de julho de
1956 e 3 de janeiro de 1968, de Sabie, Beira e Lourenço Marques. Na correspondência
transparece a relação franca e cordial que, desde cedo, ligou os dois antropólogos (a
partir de 1958, a fórmula de despedida nas cartas é: “Afectuosamente”). Os assuntos
mais tratados reportam-se aos trabalhos antropológicos e sociológicos de Rita Ferreira
(de que envia cópias a Jorge Dias), à sua vontade de estudar e se formar em
antropologia e se dedicar profissionalmente à investigação, às dificuldades que o seu
projeto enfrentava, dada a sua condição de funcionário colonial, aos problemas na
progressão na carreira (a baixa classificação no concurso para administrador de
circunscrição) e ao excesso de trabalho burocrático, que o deixava “exausto”, “física e
mentalmente cansado” para pegar em trabalhos científicos quando chegava a casa.
Várias cartas referem o trabalho realizado por Marvin Harris em Moçambique e a
polémica com o antropólogo norte-americano na revista Africa sobre a questão do
trabalho migratório de moçambicanos para a União da África do Sul. Há igualmente
várias menções às vicissitudes da colaboração de Rita Ferreira com o Instituto de
Investigação Científica de Moçambique (IICM) e a sua passagem para o Instituto do
Trabalho. Numa carta escrita a 22 de junho de 1960, aborda um acontecimento
marcante da história de Moçambique, o massacre de Mueda. Além da oferta de
trabalhos e dos pedidos de comentário recíprocos, um aspeto a ressaltar prende-se com
o empréstimo de bibliografia (a “Gramática do Mavia”) e apontamentos (sobre o
conceito de “tribo”) e com recomendações metodológicas que Rita Ferreira oferece a
Jorge Dias, quando este se preparava para fazer trabalho de campo junto dos Maconde:
“Permito-me recomendar-lhe não deixe de estudar, em primeiro lugar, os
agregados políticos tradicionais. Entre outros, cometi esse grande erro no meu
estudo sobre os Zimbas: só mais tarde compreendi que nenhum aspecto por mais
simples que seja da cultura que estudamos tem significação enquanto não for
colocado dentro da estrutura de uma instituição”.10
7 A última carta de Rita Ferreira que se encontra no espólio de Jorge Dias, escrita em
papel timbrado do Instituto do Trabalho, informa que o IICM acaba de publicar o seu
último trabalho “Os Cheuas de Moçambique”, “remodelação e aumento da antiga
monografia sobre os Azimba”, e que está a realizar um inquérito sociológico sobre a
população africana de Lourenço Marques.11 Apesar do interesse desse inquérito, o que
mais o apaixonava era o trabalho etnográfico em meio rural. Em entrevista a Cláudia
Castelo, recorda que nos dois anos que passou na Macanga (1952-1953) “foi crescendo a
convicção de que a antropologia cultural era o [seu] ideal” (Rita-Ferreira 2013). Numa
carta a Dias, afirma que gostaria de voltar ao “mato” para se dedicar de novo à
antropologia social.12
8 A escolha da carta que agora se publica na Etnográfica justifica-se por ser uma crítica ao
luso-tropicalismo a partir de Moçambique, que vem acrescentar uma nova dimensão ao
conhecimento de que dispúnhamos sobre a receção em Portugal à doutrina de Freyre
(Castelo 1999). Na senda da leitura sociológica de Mário Pinto de Andrade (1955, sob o
pseudónimo de Buanga Fele), a cujo texto poderá ter tido acesso (em 1954 esteve em
Paris fazendo pesquisas bibliográficas na Sorbonne e no Museu do Homem), e antes da
crítica histórica de Charles Boxer (1963), Rita Ferreira denunciou num artigo que
juntou a esta carta e que ficara inédito, o desfasamento entre o luso-tropicalismo e a
“situação colonial” em Moçambique, recorrendo ao conceito que Georges Balandier
apresentou num artigo de 1951.13 A carta e o seu anexo refletem a apreciação lúcida que
Rita Ferreira fazia da “situação colonial” moçambicana, enraizada e concreta, baseada
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
129
num longo e diversificado contacto com o território e as populações 14 e informada por
leituras de obras de referência de cientistas sociais que trabalharam no sul do
continente africano (sobre a influência dos trabalhos sobre migrações de Henri Junod e
Isaac Schapera, ver Pereira 2005: 372 e 381), a que teve acesso em estadias em Paris e
Londres (1949 e 1954) e pela assinatura de periódicos científicos em língua inglesa. O
documento revela-nos factos pouco ou nada conhecidos: o ataque que jornalistas do
Notícias (matutino de Lourenço Marques, criado em 1926, dirigido por Manuel Simões
Vaz) lançaram a Jorge Dias pelas considerações críticas que teceu sobre o
comportamento dos colonos portugueses em Moçambique face aos africanos, na
conferência “Contactos de cultura” (Dias 1958), realizada no âmbito dos Colóquios de
Política Ultramarina Internacionalmente Relevante, no CEPS, no início de 1958, e a
eventual censura (oficial ou interna) ao artigo que Rita Ferreira enviou àquele jornal
procurando mostrar “a veracidade” das afirmações de Dias. 15 Contudo, Rita Ferreira
também não se coibiu de contestar, com elevação e estima, a visão do professor e amigo
que, como já tem sido demonstrado (Macagno 2002; Pereira 2005), considerava que a
miscigenação, a fraternidade cristã e a ausência de etnocentrismo eram traços
essenciais, que se mantinham através dos séculos, do “carácter nacional” português
(Sobral 2007: 495). E os exemplos em sentido contrário eram, como para Gilberto
Freyre, desvios à tradição portuguesa, fruto da influência dos padrões sul-africanos. Por
seu turno, Rita Ferreira não comungava da ideia de que a “personalidade-base” do
português fazia dele um colonizador excecional. Daí que afirmasse:
“Pode ser que tenha sido excelente colonizador há séculos, quando a cultura
ocidental não se achava tão impregnada por factores económicos como hoje em dia.
Mas hoje é um péssimo colonizador, o único que em toda a África ainda usa e abusa
dessas duas chagas do colonialismo: o trabalho forçado e os castigos corporais”. 16
9 Até 1959, os chefes de posto podiam, por delegação do administrador de circunscrição,
aplicar castigos corporais aos “indígenas” (Castelo 2007: 298) e o trabalho forçado só
seria abolido em 1961 com o fim do estatuto do indigenato. Colocamos a hipótese de
Rita Ferreira ter tido conhecimento do relatório secreto que o inspetor superior de
Negócios Indígenas, Henrique Galvão, apresentou à Comissão das Colónias da
Assembleia Nacional em 1947, sobre as questões laborais em Angola. Relativamente a
São Tomé, a sua experiência direta como comissário ad hoc encarregado de acompanhar
o transporte de contratados de Moçambique para as roças de cacau terá sido decisiva na
sua perceção da iniquidade do Estado Novo e do colonialismo português (Rita-Ferreira
2013). Assim, o luso-tropicalismo e a formulação que Jorge Dias apresentou na
comunicação no CEPS – “tradição de colonialismo missionário” – tinham, segundo Rita
Ferreira, “função de mito em todo o sistema colonial português” e constituíam
“cómodas racionalizações para os teóricos metropolitanos”. Os teóricos coloniais,
autores da reação indignada e violenta contra Jorge Dias no Notícias de Lourenço
Marques, esses não subscreviam a apologia da mestiçagem e da interpenetração de
culturas. António Rosado dirige jocosamente o convite “ao sr. Dr. Jorge Dias e outros
portugueses da sua rija têmpera para proceder ao aumento da população mista no
Ultramar”, embora lhe bastasse viver algum tempo em Moçambique para “chegar à
conclusão de que é possível viver em paz e harmonia com a raça negra, sem
necessidade de a estragar com os defeitos da raça europeia”. Para o articulista do
Notícias, o europeu de Moçambique não tinha aversão pelo negro nem o tratava de
forma desumana; a distância entre eles era “imposta pela civilização, pela cultura, pelos
hábitos, pelas sensibilidades que facilmente perderá a razão de ser quando os africanos
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
130
de cor atingirem o nível dos europeus”.17 Como se mostrou alhures, em Portugal houve
resistências a aspetos fundamentais do luso-tropicalismo e apenas uma versão
“nacionalizada” da doutrina freyriana serviu de álibi à política externa e à propaganda
do Estado Novo na era da descolonização (Castelo 1999, 2017). O documento que agora
se publica revela que o luso-tropicalismo foi rejeitado em Moçambique, tanto por
intelectuais que escreviam na imprensa diária como por um funcionário colonial
“esclarecido” e dedicado à antropologia. Porém, os motivos da rejeição não podiam ser
mais divergentes.
Carta de António Rita Ferreira a Jorge Dias
A. Rita Ferreira
C.P. 565
Beira
22 de Abril de 1958
Amigo e Sr. Prof.
Muito agradeço a sua carta de 24 do mês findo. A lufa-lufa do serviço e a
preparação duma “recapitulação” da classificação e agrupamento étnicos de
Moçambique, impediram-me que lhe respondesse há mais tempo. A situação do
Quadro Administrativo a respeito de pessoal é cada vez mais angustiosa: não há
quem queira ser aspirante. O resultado é que tenho de passar o dia a fazer serviço
de dactilógrafo e outro serviço puramente mecânico, que me deixa arrasado.
Escrevi sobre a sua comunicação e a estúpida reacção local, o artigo que lhe
mando. O “Notícias”, onde costumo colaborar, não o publicou. Ignoro se por
censura interna se por censura oficial.
Creio ter sido, contudo, bastante cauteloso no que escrevi. Se permite que lhe dê a
minha opinião, quer parecer-me, pelas referências que li, que o Sr. Prof., impedido
como se encontrava de tratar o assunto com a necessária independência devido à
posição oficial que ocupa, se viu constrangido a concentrar a sua atenção em
aspectos de somenos significação sociológica e a responsabilizar os europeus de
Moçambique pela situação que existe. Eu, à base do conhecimento do meio
moçambicano que tenho e do que sei que acontece em Angola e S. Tomé, sou, aqui
para nós, um tanto mais ousado. Ponho em causa as virtudes do português como
colonizador no mundo moderno. Pode ser que tenha sido excelente colonizador há
séculos, quando a cultura ocidental se não achava impregnada por factores
económicos como hoje em dia. Mas hoje é um péssimo colonizador, o único que em
toda a África ainda usa e abusa dessas duas chagas do colonialismo: o trabalho
forçado e os castigos corporais. O colonizador português conseguiu criar pelo
menos nas três “províncias” que conheço estruturas político-económico-sociais
que não podem passar sem o emprego destes dois meios de opressão. Em Angola, a
situação do trabalho forçado ainda é pior (mas mais bem organizada) do que em
Moçambique: aí o número de negros a distribuir por cada agricultor é fixado pelos
próprios Negócios Indígenas e os administradores têm que os fornecer. E em
S. Tomé vi os próprios administradores das roças empregarem castigos corporais.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
131
Em face destas e doutras cruéis realidade[s], creio que o “luso-tropicalismo” ou
outras frases como a que citou de “tradição de colonialismo missionário” têm
funções de mito em todo o sistema colonial português e constituem cómodas
racionalizações para os teóricos metropolitanos. Estou certo que a elas recorreu
para poder chamar a atenção dos responsáveis pela governança, sem que corresse
o risco inútil e inglório de ser por eles considerado com desconfiança.
A “situação colonial” portuguesa pode ser definida como o faz George Balandier
em relação a todas as “situações coloniais”, mas com essas características não
atenuadas, como se diz, pela “brandura dos nossos costumes” ou pelas nossas
“ten[d]ências atávicas de assimiladores”, mas exacerbadas pelo nosso atrazo
económico, pela nossa irrascibilidade, pela sub-instrução e sub-educação do
povinho humilde de onde sai a grande massa dos colonizadores. Oh, senhores, não
poder escrever eu livremente sobre as amargas experiências dum homem colonial!
O que se passou em mim naquela noite em S. Tomé em que fui insultado pelo
administrador da roça onde estava hospedado por ter “ousado” ouvir sem a sua
augusta presença as humildes queixas dos cabo-verdianos, angolanos e
moçambicanos ali trabalhando em regime compelido. Talvez um dia o faça, já no
fim da carreira, e que golpe não vai ser para os teóricos! Um golpe tão grande
como vai ser o vibrado pelo trabalho do Prof. Marvin Harris. 18
Na “situação colonial” portuguesa há algo que “ne marche pas”. Como explicar
essas fugas em massa de trabalhadores, de famílias, de tribos para os territórios
vizinhos, na Guiné, em Angola, em Moçambique. Só não fogem de S. Tomé por ser
uma ilha! Ainda lendo recentemente o trabalho do Prof. Clyde Mitchell sobre os
Ajauas da Niassalândia19(para onde, como sabe, emigraram centenas de milhares,
talvez algo como um milhão de indígenas de Moçambique) notei sem surpresa a
informação de que todos aqueles que interrogou alegaram como motivo de
abandono da terra natal, os maus tratos.
Na Federação segundo as últimas estatísticas, há nada menos do que 133.000
trabalhadores activos do sexo masculino de proveniência moçambicana. E na
União 150.000. Isto junto aos do Tanganica, perfazem, como vê, quase metade dos
homens válidos de Moçambique. E bestificamente, continuamos a dizer (como na
recente e saborosa discussão do Plano de Fomento no Conselho Legislativo, quando
se falou de mão de obra) que o indígena é preguiçoso e que só por meio de
preparação psicológica se pode levar ao trabalho…
A misceginação também tem que se lhe diga. Há milhares de crianças mistas
abandonadas pelos pais. E isto é tanto mais notável quanto é certo que no Congo
Belga os pais das crianças mistas ilegítimas são sistematicamente chamados à
responsabilidade…
Sobre a assimilação nem é bom falar.
Poucos são os que têm a coragem de aludir a esta situação catastrófica. E o Sr. Prof.
foi um desses, embora sob evidentes constran-gimentos psicológicos. Nós, os que
vemos a situação com certa lucidez, não devemos, realmente, fugir. É preciso que
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
132
fiquemos, para que possamos analisar, estudar (e, como sabe, ser um dia
escutados) o ambiente sociológico que nos cerca. Temos uma tarefa a cumprir.
Os hábitos e pontos de vista locais estão tão empedernidos que me parece só por
pressão do Governo Central poderem ser alterados. Quando digo locais, refiro-me
também a S. Tomé e Angola. Mas não terá a Metrópole receio de reacções locais de
carácter separatista, se quiser pôr em prática certas medidas? É o que me parece
que está acontecendo com o problema da mão de obra, por exemplo. Se se pusesse
em prática as determinações legais, as repercussões económicas seriam
extremamente graves e daí a revolta contra o Governo Central.
Permito-me aconselhá-lo a rodear a sua próxima visita do maior sigilo, pois me
constou haver alguns elementos em Lourenço Marques que aguardam a sua vinda
para se manifestarem contra si. É realmente lamentável, estúpida e incoerente e
própria de ignorantões, a reacção desencadeada pela sua comunicação.
Desculpe esta carta ir um pouco atabalhoada. Tive que a interromper a todo o
momento para atender a assuntos de serviço e um deles bem irritante: um dos
aspirantes vai de urgência para a metrópole e com esta partida agrava-se a
acumulação do expediente. O curioso da situação é que conheço tantos indígenas
excelentes dactilógrafos, que andam miseravelmente de porta em porta
procurando emprego por salários irrisórios! Aqui há dias, como se aceitam
aspirantes, interinos, com a 4.ª classe, um assimilado requereu a sua admissão. Pois
foi por aqui uma risota gostosa. Até já pretos há no quadro administrativo, diziam,
em grandes galhofas! A situação dos assimilados e mistos é muito angustiosa em
face da legislação de salários mínimos e outras regalias, porque ninguém está
disposto a dar-lhes os mesmos salários e direitos que se dão aos europeus. Enfim,
problemas e mais problemas. A vantagem deste quadro é estarmos em contacto
directo com eles.
Muito afectuosamente,
[assinatura]
Artigo de A. Rita Ferreira anexo à carta
JORGE DIAS E A CONJUNTURA SOCIOLÓGICA MOÇAMBICANA
Ainda não nos foi possível tomar conhecimento do texto completo da conferência
proferida pelo Prof. Jorge Dias no Centro de Estudos Políticos e Sociais. Por isso, é a
medo e baseados apenas nas citações com que deparámos nos artigos publicados
na imprensa que decidimos tecer estes comentários. Mas antes, permitam-nos os
homens de letras que subscreveram esses artigos que exprimamos a nossa mágoa
pelas graçolas e insultos que não souberam reprimir. Quando, em meados do ano
findo, nos foi dado conhecer pessoalmente Jorge Dias, logo nos seduziu a sua
extrema modéstia e afabilidade, a sua superior lucidez e preparação. Doutorado
por uma universidade alemã, com vários anos de permanência em diversos países
estrangeiros, autor de obras de projecção internacional no campo da etnologia e da
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
133
sociologia, é a antítese da imagem anedótica do catedrático pomposo e com
hábitos de arrogância intelectual que nos dá A. Rosado. 20 É, acima de tudo, um
cientista social, ansiando que o deixem investigar em sossego e em detalhe. Nem
nos parece que procure conquistar auriflamas, sinecuras ou magnificências. É
provável que algumas das suas conclusões (falível como é a sociologia na
elaboração de leis precisas) sejam menos exactas; mas decerto que não é com
remoques galhofeiros e ofensivos que devem ser contestadas.
Se bem compreendemos, fez, na sua comunicação, uma tentativa para formular
(como já o havia feito em relação à cultura portuguesa em outra comunicação
apresentada no I Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, realizado em
Washington em 1950) a personalidade base do europeu em Moçambique. A nós
mesmo havia já ocorrido o interesse de tal tarefa, assim que travámos
conhecimento com os trabalhos de Kardiner e Linton;21 tínhamos até tomado sobre
o assunto alguns ligeiros e dispersos apontamentos.
Mas primeiro convém, talvez, elucidar o leitor interessado nestes problemas o que
deve entender-se por personalidade base dum povo. Trata-se de um conceito
sociológico recente que corresponde ao antigo carácter nacional. Pode definir-se
como “uma configuração psicológica particular, própria aos membros duma
sociedade dada, e que se manifesta por um certo estilo de vida, sobre o qual os
indivíduos tecem as suas variantes singulares”. É a base da personalidade para os
membros do grupo, é a matriz na qual se desenvolvem os traços do carácter. A
noção não é nova, o que é nova é a significação que lhe é conferida: não é somente
uma abstracção psicológica, mas um meio de pensar qualquer cultura como um
todo, definindo-se cultura, de harmonia com Linton, como “a configuração geral
dos comportamentos adquiridos e dos seus resultados, cujos elementos são
adaptados e transmitidos pelos membros de uma sociedade dada”. 22 Para
compreender uma cultura, não basta, pois, acumular informações sobre as
instituições; é indispensável extrair o sentido dessas informações. Depois de
utilizar esta noção e os seus métodos no estudo de várias culturas ditas
“primitivas”, o psicólogo americano Kardiner, baseado num inquérito sociológico
profundo realizado por J. West num aglomerado meio rural, meio urbano do
Middle-West estado-unidense, demonstrou que essa noção e esses métodos podem
ser aplicáveis ao estudo das sociedades modernas ditas “civilizadas”. 23 Foi o que
tentou fazer Jorge Dias em relação à “situação colonial” moçambicana.
Esta expressão, proposta por George Balandier,24 fez, decerto, franzir o sobrolho de
alguns leitores. Mas nela não se devem ver quaisquer implicações políticas ou
ideológicas; com ela, este sociólogo francês pretendeu classificar um tipo sui
generis de sociedade criado pela instalação de civilizações complexas, de base
técnica e economia desenvolvida, entre civilizações simples do tipo “primitivo”,
pré-mecânico, com uma economia de subsistência, numa relação de dominação-
subordinação a que se encontram associados complexos problemas económicos,
políticos, sociais e raciais e donde derivam, com facilidade, tensões e conflitos. A
“situação colonial” cria grupos heterogéneos, de fundamento racial, mantendo
frequentemente relações antagónicas, mas coexistindo num quadro político único.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
134
Uma minoria numérica (mas não sociológica), animada por uma convicção de
superioridade, age política, económica e espiritualmente sobre os seus autoctones
com um vigor desproporcionado ao seu número. Tende a considerar a maioria
aborígene como instrumento criador de riquezas, e tende a tornar-se, com o
decorrer do tempo, tanto mais renitente à fusão quanto mais ameaçada se sente
pela pressão demográfica e, portanto, receosa de ver a hierarquia estabelecer-se
unicamente em função do critério numérico. Por estas e por outras razões, a
integração social e económica dos aborígenes no seio do grupo dominante
manifesta-se em extremo custosa. Esse grupo apresenta-se como modelo, mas, na
prática, não facilita os meios capazes de realizá-lo. Esta complexa situação repousa
também sobre ideologias, sobre um sistema de justificações e racionalizações que,
de um modo geral, afirmam a incapacidade e o retardo do autoctone, a
superioridade cultural do colonizador e o direito e dever que lhe assiste de
proceder como procede. Ao grupo colonizado falta, por sua vez, coesão; encontra-
se dividido étnica e linguisticamente, dividido espiritualmente, dividido
socialmente pela acção administrativa e económica, e constitui um terreno onde se
entrechocam crises e desajustamentos. O colonizado adquire assim uma psicologia
própria que o psicólogo francês O. Mannoni classificou de “dependente” e
apresenta conflitos internos de “homem marginal”, que vê duramente atingido o
equilíbrio das organizações socio-culturais a que tradicionalmente pertencia. 25
A “situação colonial” é, deste modo, em extremo complexa e, para ser
compreendida na sua totalidade, é necessária a contribuição simultânea de
historiadores da colonização, de economistas, de políticos e administradores, de
sociólogos (interessados nas relações entre civilizações estranhas), de
antropólogos (interessados nas culturas tradicionais nativas e suas mutações), de
psicólogos (interessados nas relações raciais).
Resumidas as características, segundo George Balandier, comuns a todas as
“situações coloniais” do planeta, incluídas as das vizinhas União da África do Sul e
Federação das Rodésias, há algo de específico a acrescentar para compreendermos
na sua totalidade o fenómeno moçambicano. O grupo dominante é proveniente de
um país pequeno, escassamente dotado de riquezas naturais, de limitado
desenvolvimento económico e industrial, com uma população de baixo rendimento
per capita e, na maioria, de extracção rural. Nos meios intelectuais, desde cedo se
desenvolveu, baseada em vasta experiência colonizadora, uma ideologia de
integração racial. Este povo, pela primeira vez na sua história, aplica a sua
capacidade colonizadora lado a lado com povos europeus de diferente extracção
cultural e racial, provenientes de metrópoles altamente industrializadas e de forte
desenvolvimento económico. A fronteira, além de ser, devido a circunstâncias
históricas, extensa e traçada sem consideração pela divisão étnica autoctone,
permite múltiplas e fáceis simbioses. Finalmente, peculiaridades geográficas
impõem relações de certa constância e intensidade com os estrangeiros, com
repercussões economicamente vantajosas.
Fica assim, exposta, em traços largos, a noção que Jorge Dias pretendeu aplicar a
uma situação sociológica peculiar. Para resolução dos complexos problemas por ela
levantados, são muitos autores de opinião que o colonizador lusitano encontrou
soluções sólidas e verídicas por meio de uma intensa misceginação racial e cultural
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
135
que, com o decorrer do tempo, produz perfeita integração social e económica. Um
dos próceres desta doutrina, o sociólogo brazileiro Gilberto Freyre, deu-lhe o nome
de “luso-tropicalismo”.26
Até que ponto os princípios do “luso-tropicalismo” têm sido realizados em
Moçambique?
Como intróito pessoal cremos necessário precisar que nos é inaplicável qualquer
acusação de desconhecimento do meio. Não pesam apenas sobre nós quase quatro
décadas vividas entre a “situação colonial” moçambicana, mas, principalmente,
mais de três lustros vividos de Norte a Sul, por imposições profissionais, no âmago
desta situação.
Passando agora propriamente ao conteúdo da comunicação, cremos que o ilustre
catedrático não deixou de considerar na sua definição de personalidade base do
europeu português de Moçambique, que este, além de constituir o grosso do grupo
económica, política e espiritualmente dominante, numa sociedade de tipo
“colonial”, participa também numa sociedade global, e, como tal, é ponto de
convergência de todo um complexo de problemas levantados por aquela
conjuntura sociológica específica. Todavia, neste ponto, parece-nos conveniente
fazer a distinção (que ignoramos se Jorge Dias fez) entre as facetas dessa
personalidade que não provocam quaisquer repercussões sobre (nem derivam da)
estrutura da sociedade “colonial”, e aquelas que são condicionadas por ela. As
primeiras nos parecem, salvo o devido respeito, desprovidas de importância.
Vejamos, por exemplo, as considerações que tece sobre certos hábitos lúdicos. Se
considerarmos como típico da cultura portuguesa o facto de camponesas só
conhecerem o idioma pátrio e não fumarem, e o facto de rústicos beberem
carrascão e bailarem em romarias, estamos, sem dúvida, perante desvios dessa
cultura quando mulheres portuguesas gostam de tabaco e falam inglês, e quando
homens portugueses bebem whisky e dançam em boites. Onde cremos que Jorge
Dias se engana é quando julga que esses procedimentos desviantes se adoptam por
serem de “bom tom”, expressão que tem latente a ideia de insinceridade. A nós
antes nos quer parecer que se seguem por serem mais úteis ou mais agradáveis; a
mulher que fuma, como o homem que bebe whisky, não o fazem rilhando os
dentes, para impressionar o próximo com o seu refinamento ou para ganhar
auréola de “modernos”, mas porque sentem intenso prazer nisso. Não vemos que
esses hábitos tenham qualquer significação sociológica, além de traduzirem um
fenómeno de difusão, de resto, também observável entre certos meios
metropolitanos.
E quanto à mulher? Será que, na realidade, Jorge Dias generalizou em demasia as
suas observações? Não podemos negar que existe o tipo que define como ocioso,
deficientemente preparado e possuíndo ideais de luxo e de vida fácil. Mas esse
tipo, tanto quanto vemos, encontra-se quase exclusivamente na classe mais
elevada da pirâmide social (a divisão do grupo dominante em classes é uma
realidade que não pode passar despercebida à atenção do sociólogo). Na classe
média e entre o proletariado, recorre-se ao emprego feminino em larga escala.
Sintomático nos parece o desaparecimento quase total do tipo clássico de filha-
família que aguarda passivamente que surja um marido e se vai, entretanto,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
136
esmerando em prendas domésticas. Segundo se nos afigura, o ideal de muitos pais
está em dar a suas filhas uma instrução tal que lhes permita a obtenção de
empregos remuneradores em que ganhem a vida sem apoio e possuam,
ulteriormente, se tal for necessário, contribuir para a economia do lar que
formarem.
(Sobre a mulher “colonial” diga-se, a propósito, que há algo de interessante a
estudar e que não escapou à penetração de O. Mannoni, isto é, as causas
psicológicas profundas que a levam a assumir, em relação aos grupos dominados,
atitudes mais ríspidas e intolerantes).
Encarando-as à luz da nossa experiência, cremos ter o conferencista discernido e
enunciado com precisão e veracidade algumas das facetas condicionadas pelo
fenómeno “colonial” na personalidade base do europeu português de Moçambique,
embora, na sua maioria, se bem compreendemos, sejam típicas de qualquer
agrupamento dominante numa sociedade de tipo idêntico.
Mas antes de começar, permita-nos o ilustre conferencista que manifestemos as
nossas reservas quanto ao que definem como “tradição de colonialismo
missionário”, noção que lhe serviu de base para concretizar os desvios patentes em
Moçambique. Quereria referir-se ao “luso-tropicalismo”? Salvo o devido respeito,
aquela noção, embora de forte conteúdo emotivo, parece-nos em extremo vaga e
filia-se, quiçá, nas racionalizações que contribuem para dar à “situação colonial” o
seu carácter de inautenticidade. Também aqui convém frisar que a ruptura entre
as fórmulas ideológicas do tipo “missão e responsabilidade colonizadora” e as
práticas sociais, é característica de toda a “situação colonial” e não apenas de
Moçambique.
Reflitamos que, com excepção de alguns idealistas, a totalidade dos emigrantes,
mesmo os de formação universitária, não vão propagar ou dar aplicação a elevados
princípios teóricos sobre colonização, mas, muito comezinhamente, melhorar a
sua posição económica e social. Não hesitam, naturalmente, em tirar proveito
duma situação sociológica peculiar que lhes fornece meios para atingirem o seu
fim assaz rapidamente e com o menor esforço possível. No caso lusitano acontece
que, em grande parte, são provenientes de camadas sub-instruídas,
economicamente débeis e de inferior estatuto social. Desembarcam com a energia
própria do desapossado, liberto de controlos internos e disposto a tudo para
enriquecer. Com mimetismo atávico, logo aderem a certas atitudes etnocêntricas
com que deparam. Por outro lado, vendo-se repentinamente transformados em
membros dum grupo estratificado, mas onde há (por muito que custe aos
contraditores do conferencista) um sentimento colectivo de superioridade rácica e
cultural, natural parece que tendam a assumir comportamentos de “compensação
por vaidade”, que procurem marcas externas de prestígio e, sobretudo, excessivo
respeito e obediência por parte do grupo dominado. Mas sociologicamente mais
importantes que as desforras psicológicas à custa das quais esses elementos
procuram sentir-se superiores, se afiguram os extremos a que (de parceria com
muitos não europeus, sobretudo asiáticos) se deixam arrastar numa ânsia de
conforto e de segurança económica, que nunca conheceram, e de acumulação de
pecúnia, que nunca tiveram. Esse dinâmico impulso conduz, facilmente, a hábitos
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
137
de canibalismo económico e de exploração do homem pelo homem, de que o
aborígene é principal vítima, testemunha e crítico.
Seja, porém, como for, há uma consequência proveniente dessa imigração pouco
qualificada e de nula capacidade económica – que é que, inserindo-se como se
insere no seio duma “situação colonial” típica, constitui o mais forte obstáculo à
ascenção e à integração económica dos autoctones evoluídos. Tenhamos sempre
presente este aspecto vital: por assimilação, os aborígenes entendem, não a
assimilação puramente jurídica, mas principalmente e acima de tudo, a assimilação
económica, social e de níveis de vida. Assim, se o virmos à luz deste critério,
antolha-se-nos que o sistema de assimilação tem, em Moçambique, aspectos de
singular inoperância: o número de beneficiados é sociologicamente desprezável e
aumenta numa percentagem menor do que a que se verifica em relação ao total da
população indígena; a sua integração social e económica é em extremo custosa.
Além disso, a sua existência está a provocar uma confusão curiosa entre estatutos
jurídicos e situações sociais concretas. (Talvez esta difícil questão da assimilação
revele em Moçambique, juntamente com outras, a existência do mesmo conflito
que acontecimentos recentes permitiram e permitem discernir em certas colónias
de povoamento como a Argélia, o Quénia e as Rodésias: o conflito entre a
administração central que visa garantir certos direitos ao colonizado e os colonos
que visam cerceá-los).
Outro aspecto temos de aceitar como típico da “situação colonial” moçambicana:
um desinteresse quase geral e absoluto pelos valores e pela vida nativa. O contacto
encontra-se reduzido ao mínimo; o grupo dominante vive divorciado das
realidades sociológicas. Mesmo entre os meios intelectuais (mais responsáveis por
conseguinte) há um sector importante que gasta o seu talento em subtilezas
nefelibatas e ignora o ambiente que o cerca. Também, a nosso ver, estão a
condicionar-se defeituosamente as novas gerações. A juventude desde a mais tenra
infância que, nos lares, depara com concepções e hábitos etnocêntricos
petrificados, aprende a aceitar o carácter instrumental do aborígene, e se
compenetra de que faz parte de uma aristocracia pigmentária. O condicionamento
oficial faz alguns esforços para remediar estes males, mas, dum modo geral, não
nos parece adaptado a sincronizar os educandos com o ambiente, a prepará-los
para uma sociedade pluriracial e integrada.
Baseados em inúmeros exemplos com que temos deparado no decurso da
existência, mantemos a opinião de que existe, de modo latente e pronto a
manifestar-se com virulência, certa discriminação de fundamento racial. Outros,
mais respeitáveis e experientes do que nós, afirmam tal não ser verdade. Uma
certeza neste controvertido campo não está fora das possibilidades da moderna
sociologia. Naturalmente que quem sente os efeitos da existência das práticas
discriminatórias não são os membros do grupo leucoderme e, desse modo, só
inquéritos sistemáticos realizados entre a população melanoderme, sobretudo
negra, permitiriam relegar para o plano de inofensiva “conversa de café” as
actuais divergências de opinião.
Referiu-se Jorge Dias a certos tratamentos coercivos e desumanos. Este, quer-nos
parecer, é um dos aspectos mais singulares e melindrosos da nossa colonização, e
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
138
ressalta, sobretudo, quando se acham em causa questões de prestígio pessoal e de
interesse económico. Os psicólogos talvez o possam explicar por uma composição
temperamental peculiar. Qual de entre nós, na verdade, é capaz de reprimir gestos
irrascíveis e palavras humilhantes ou ofensivas quando em estado de exaltação
contra o aborígene? E estas condutas descontroladas são tanto mais para lamentar
quanto é certo que estrangeiros seguindo políticas de confessada segregação se
revelam singularmente afáveis nos contactos de indivíduo com indivíduo. Fleuma?
Tradições seculares de respeito pelo indivíduo? Também aqui só a psicologia pode
dar uma resposta satisfatória. Quiçá estreitamente relacionado com esta faceta da
nossa personalidade de “coloniais” e com desníveis de desenvolvimento
económico estão certas condutas muito típicas de escape, individual ou em grupos
organizados, que não raro assumem vastas proporções e dão origem a
consideráveis repercussões políticas, sociais e económicas.
Procurar na misceginação em grande escala uma solução para todos estes
problemas parece-nos, salvo o devido respeito, utópico e inoperante. Começa por
ser modernamente impraticável: pôde fazer-se nos tempos de comunicações
difíceis, quando a emigração era sobretudo masculina e as colónias terreno bravio
e inóspito que as mulheres temiam e onde os companheiros não queriam arriscá-
las. Ora as condições são hoje totalmente diferentes: a população europeia
feminina tende a igualar em número a masculina e, portanto, a fazer valer os seus
direitos. E, por muito que isso custe a admitir aos corifeus do “luso-tropicalismo”,
o português, na escolha da consorte legítima, manifesta decidida preferência pelas
mulheres do seu próprio extracto racial. Cremos que o colonizador português
nunca aplicou em Moçambique, em escala sociologicamente significativa, o
“método Albuquerque”, celebrado por Gilberto Freyre pela excelência dos
resultados a que conduziu no Brazil, dos séc. XVI a XIX, isto é, o genearca, difusor
cultural e perfeitamente integrado no ambiente, cercado de concubinas
melanodermes, alacremente reconhecendo como legítima e cristianizando toda a
numerosa descendência. O que, pelo contrário, vemos a todo o instante (e contra
isso se têm insurgido numerosas autoridades) é o repúdio dos filhos espúrios
havidos de aborígenes. Igualmente nos parece que certa hipertrofia do sexual,
própria da cultura portuguesa, está a produzir efeitos perniciosos.
Acresce que todos temos observado que os melanodermes, quando em posições de
mando, talvez vitimados pelos mesmos mecanismos psicológicos que operam no
europeu de baixa extracção, são mais inclinados a condutas intolerantes para com
o aborígene. Este, por sua vez, sente maior relutância em obedecer-lhes. Os
conflitos revelados por esta e outras atitudes não escaparam a George Balandier
que os sintetizou admiravelmente deste modo: “o compromisso racial, eles (os
mistos) de nenhum modo constituem um compromisso social. Dificilmente se pode
ver neles um instrumento de ligação entre a sociedade colonizada e a sociedade
colonial”. Assim, em razão da sua superior condição económica e social, em razão
da sua mais próxima integração no grupo dominante, estão – com excepção de
certos intelectuais – mais em conflito do que em acordo com a sociedade
colonizada.
E se aprofundarmos essa questão tão delicada das relações de trabalho, que
diferença entre as presentes circunstâncias e a técnica do séc. XV de incorporação
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
139
de escravos de cor, como afilhados, a famílias de que alguns tomavam, além do
nome e da fé, modos e comportamentos, até se tornarem iguais a indivíduos livres!
E por hoje cremos ter dito o bastante para provar quão grande é a distância que
separa a conjuntura sociológica moçambicana (aberrante para todos os que crêem
na possibilidade da aplicação prática do “luso-tropicalismo”) dos princípios dessa
doutrina.
Será possível reconduzir o português de Moçambique às excelências do “luso-
tropicalismo” por meio de técnicas de propaganda acústica e visual, como
pretende Jorge Dias? Será que os ingredientes que geraram a situação sociológica
designada por “luso-tropicalismo” foram sobrepujados pelos factores económicos,
então dela ausentes, e que tão grande preponderância têm na civilização mecânica
e aquisitiva dos dias presentes? Será que o caso moçambicano comprova a tese de
Mannoni, segundo a qual a oposição entre raças não é um fenómeno primário e
espontâneo, mas que se forma progressivamente, por uma evolução?
Como estudante de antropologia que somos – e, portanto, particularmente
interessados na observação das culturas tradicionais nativas e suas mutações – não
pretendemos com estas considerações invadir o domínio duma disciplina que,
embora afim, constitui hoje em dia uma especialidade distinta. Quizemos tão
somente apresentar o testemunho de alguém que tem vivido em toda a sua
intensidade a “situação colonial” moçambicana.
Tenham pelo menos estes debates a vantagem de mostrar a muitos que a
conjuntura sociológica moçambicana não é tão singela e inócua como parece, de,
enfim, suscitar certa efervescência nos espíritos. Luz completa só inquéritos
profundos, feitos por sociólogos qualificados, a podem conseguir. Até lá
continuemos a discutir desabaladamente, é certo que sem chegar a acordo, mas
revelando, pelo menos, quão profundamente nos encontramos divididos.
Muita gente discordará das observações que fizemos. Foram elas tecidas ao redor
de problemas cadentes, quase impossíveis de discutir com fleuma. As reacções de
todos os que se pronunciaram, embora por vezes nos tenham causado mágoa, não
nos surpreenderam, acostumados como estamos a ver os ânimos em ebulição,
sempre que se cai na discussão oral da “política indígena”. A “política indígena”,
tenha-se em mente, é, em primeiro lugar e principalmente, uma POLÍTICA e, como
tal, pasto das mais divergentes opiniões.
O maior perigo está em continuar a alimentar-nos de mitos e a admirar
beatificamente, sem comentários nem reflexão, o breviário do “luso-tropicalismo”.
A contribuição de Jorge Dias deve considerar-se, quiçá, como o primeiro trabalho
que estuda, à luz duma disciplina científica, a “situação colonial” moçambicana.
Decerto que merece apoio e continuação, porque ajuda a atingir o fim que
podemos resumir assim: “Conhecer a realidade para ficar apto a encontrar para ela
soluções autênticas”. Análises como a que fez são também proveitosas porque,
para já, nos obrigam a sérios exames de consciência, nos fazem reflectir na grave
responsabilidade que sobre nós pesa: conseguir um Moçambique onde nossos
filhos possam viver sem angústia.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
140
BIBLIOGRAFIA
ANDRADE, Mário Pinto de [sob pseudónimo de Buanga Fele], 1955, “Qu’est-ce que le luso-
tropicalismo?”, Présence Africaine, 4-5: 24-35.
BALANDIER, Georges, 1951, “La situation coloniale: approche théorique”, Cahiers Internationaux de
Sociologie, 51: 44-79.
BOXER, Charles, 1963, Race Relations in the Portuguese Colonial Empire. Oxford, Oxford University
Press.
CASTELO, Cláudia, 1999, “O Modo Português de Estar no Mundo”: O Luso-tropicalismo e a Ideologia
Colonial Portuguesa (1933-1961). Porto, Edições Afrontamento.
CASTELO, Cláudia, 2007, Passagens para África: O Povoamento de Angola e Moçambique com Naturais da
Metrópole. Porto, Edições Afrontamento.
CASTELO, Cláudia, 2017, “The Luso-tropicalist message of the Portuguese late colonial empire”,
em José Luís Garcia, Chandrika Kaul, Filipa Subtil e Alexandra Dias Santos (orgs.), Media and the
Portuguese Empire. Cham, Palgrave Macmillan, 69-86.
DIAS, Jorge, 1958, “Contactos de cultura”, in Centro de Estudos Políticos e Sociais, Colóquios de
Política Ultramarina Internacionalmente Relevante. Lisboa, CEPS-JIU, 55-82.
DOMINGOS, Nuno, 2013, “A desigualdade como legado da cidade colonial: racismo e reprodução
de mão-de-obra em Lourenço Marques”, em Nuno Domingos e Elsa Peralta (orgs.), Cidade e
Império: Dinâmicas Coloniais e Reconfigurações Pós-Coloniais. Lisboa, Edições 70, 59-112.
FREYRE, Gilberto, 1933, Casa-Grande & Senzala. Rio de Janeiro, Maia & Schmidt Ltda.
FREYRE, Gilberto, 1953, Um Brasileiro em Terras Portuguesas: Introdução a Uma Possível
Lusotropicologia Acompanhada de Conferências e Discursos Proferidos em Portugal e em Terras Lusitanas e
Ex-lusitanas da Ásia, da África e do Atlântico. Rio de Janeiro, José Olympio.
HARRIS, Marvin, 1959, “Labour emigration among the Moçambique Thonga: cultural and political
factors”, Africa: Journal of the International African Institute, 29 (1): 50-66.
KARDINER, Abram, e Ralph LINTON, 1939, The Individual and His Society: the Psychodynamics of
Primitive Social Organization. Nova Iorque, Columbia University Press.
KARDINER, Abram, et al., 1945, The Psychological Frontiers of Society. Nova Iorque, Columbia
University Press.
LINTON, Ralph, 1945, The Cultural Background of Personality. Nova Iorque, Appleton-Century Crofts.
MACAGNO, Lorenzo, 1999, “Um antropólogo norte-americano no ‘mundo que o português criou’:
relações raciais no Brasil e Moçambique segundo Marvin Harris”, Lusotopie, 6: 143-161.
MACAGNO, Lorenzo, 2002, “Lusotropicalismo e nostalgia etnográfica: Jorge Dias entre Portugal e
Moçambique”, Afro-Ásia, 28: 97-124.
MACAGNO, Lorenzo, 2015, “Trabalhadores moçambicanos na África do Sul: bastidores da
controvérsia entre Marvin Harris e António Rita-Ferreira”, Africana Studia, 25 (2): 83-102.
MACAGNO, Lorenzo, 2016, “The birth of cultural materialism? A debate between Marvin Harris
and António Rita-Ferreira”, Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology, 13 (1), disponível em http://
www.vibrant.org.br/issues/lastest-issue-v-13-n-1-01-062016/lorenzo-macagno-the-birth-of-
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
141
cultural-materialism-a-debate-between-marvin-harris-and-antonio-rita-ferreira/ (última
consulta em junho de 2019).
MANNONI, Octave, 1950, Psychologie de la Colonisation. Paris, Seuil (edição inglesa: 1956, Prospero
and Caliban: The Psychology of Colonization, Londres, Methuen).
MITCHELL, Clyde, 1956, The Yao Village: A Study in the Social Structure of a Malawian Tribe.
Manchester, Manchester University Press.
PELS, Peter, e Oscar SALEMINK, 1994, “Introduction: five theses on ethnography as colonial
practice”, History and Anthropology, 8 (1-4): 1-34.
PEREIRA, Rui Mateus, 1986, “Ideologia e mudança de estrutura social entre os Tsonga de
Moçambique: um olhar crítico sobre os critérios utilizados no estudo dos factores da migração
laboral no Sul do Save”, Ethnologia, 3-4: 175-216.
PEREIRA, Rui Mateus, 2001, “A ‘Missão etognósica de Moçambique’: a codificação dos ‘usos e
costumes indígenas’ no direito colonial português. Notas de Investigação”, Cadernos de Estudos
Africanos, 1: 125-177.
PEREIRA, Rui Mateus, 2005, Conhecer para Dominar: O Desenvolvimento do Conhecimento Antropológico
na Política Colonial Portuguesa em Moçambique, 1926-1959. Lisboa, Universidade Nova de Lisboa,
dissertação de doutoramento em Antropologia.
PEREIRA, Rui Mateus, 2016, “Recortar, dividir, segmentar: saberes coloniales y su extensión
poscolonial en Mozambique”, Revista de Antropología Social, 25 (2): 341-360.
RITA-FERREIRA, António, 2013, “António Rita-Ferreira (depoimento, 2012)”, Lisboa, IICT,
transcrição disponível em http://actd.iict.pt/view/actd:MOARF (última consulta em junho de
2019).
SAADA, Emmanuelle (org.), 2002, “Regards croisés: transatlantic perspectives on the colonial
situation”, French Politics, Culture and Society, 20 (2): 1-3.
SCHNEIDER, Alberto Luiz, 2013, “Charles Boxer (contra Gilberto Freyre): raça e racismo no
império português ou a erudição histórica contra o regime salazarista”, Estudos Históricos, 26 (52):
253-273.
SOBRAL, José Manuel, 2007, “O outro aqui tão próximo: Jorge Dias e a redescoberta de Portugal
pela antropologia portuguesa (anos 70-80 do século XX)”, Revista de História das Ideias, 28: 479-526.
STOCKING, JR., George W., 1991, “Colonial situations”, em George W. Stocking, Jr. (org.), Colonial
Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge. Wisconsin e Londres, Wisconsin
University Press, 3-9.
NOTAS
1. Rita Ferreira ingressou na carreira administrativa depois de concluir o 7.º ano do liceu. No final
da década de 1950 frequentou um curso de Estudos Bantus na Universidade de Pretória, sem, no
entanto, obter qualquer grau académico.
2. Agradecemos ao Museu Nacional de Etnologia, por nos ter facultado o acesso à
correspondência de António Rita Ferreira para Jorge Dias, e a Filipe e João Rita Ferreira, por nos
terem autorizado a publicar a carta e o artigo de seu pai.
3. Ver http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_9579#!e_9571 (última consulta em junho de
2019).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
142
4. Ver http://www.antoniorita-ferreira.com/pt/pagina-inicial (última consulta em junho de
2019).
5. Lorenzo Macagno pôde fotocopiar parte do acervo de cartas pessoais de Rita Ferreira quando o
entrevistou em 2012 (Macagno 2015: 84) e teve acesso às cartas trocadas com Marvin Harris
depois da morte de Rita Ferreira (Macagno 2016: 3).
6. Todas as cartas citadas neste texto, incluindo a que aqui se publica, pertencem a esse espólio
de António Jorge Dias existente no Museu Nacional de Etnologia (MNE), em Lisboa. A grafia
original foi mantida em todos os trechos citados. O projeto referido foi desenvolvido no Centro
Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Universidade de Lisboa, e financiado
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (IF/00519/2013).
7. Ofício de Adriano Moreira, diretor do CEPS, para o presidente da Comissão Executiva da JMGIU,
2/5/1956 (Universidade de Lisboa, Arquivo Histórico do IICT, Comissão Executiva da JIU, processo
605, vol. 1, doc. n.º 19).
8. Carta de A. Rita Ferreira a A. Jorge Dias, Sabie, 11/7/1956.
9. Carta de A. Rita Ferreira a A. Jorge Dias, Lourenço Marques, 17/6/1957.
10. Carta de A. Rita Ferreira a A. Jorge Dias, Beira, 14/8/1957.
11. Carta de A. Rita Ferreira a A. Jorge Dias, Lourenço Marques, 3/1/1968.
12. Carta de A. Rita Ferreira a A. Jorge Dias, Lourenço Marques, 8/3/1960.
13. A “situação colonial”, cujo papel na crítica à dominação colonial tem sido salientado,
germinou do trabalho de Balandier na África ocidental francesa (ex. Balandier 1951). O autor
preconiza uma abordagem sociológica da sociedade colonizada e da sociedade colonial no seu
conjunto, formando um sistema, uma totalidade complexa, e tendo em vista captar o seu
dinamismo e não a sua pureza (para uma revisitação do conceito, ver Saada 2002).
14. Enquanto funcionário do quadro administrativo, viveu em Mogincual (a sul da Ilha de
Moçambique), Bárué, Morromeu, Quelimane, Ressano Garcia, Lioma (Gurué), Homoíne, Macanga
(Tete), Sabie (trabalhadores do Sul de Moçambique emigrados na África do Sul), Beira e Lourenço
Marques.
15. Em entrevista a Cláudia Castelo, Rita Ferreira contou que “António Rosado, Nuno Bermudes,
Guilherme de Melo e até Vasco de Matos Sequeira juntaram-se para humilharem o conhecido
catedrático. Por ser amigo pessoal de Jorge Dias, procurei rebater os assomos escarninhos que
esses jornalistas tinham empregado. Daí ter escrito em sua defesa ‘Jorge Dias e a conjuntura
sociológica moçambicana’. Este artigo também não foi aceite pela censura. Jorge Dias confessou-
me o grande desgosto que sofrera com as grosserias e chacotas que lhe foram dirigidas” (Rita-
Ferreira 2013: 12).
16. Carta de A. Rita Ferreira a A. Jorge Dias, Beira, 22/4/1958.
17. A. Rosado, “Temas e critérios – Reposta à letra: será despeito ou o Sr. Dr. não terá visto
bem?…”, Notícias, 15/3/1958, pp. 1 e 8.
18. O resultado do trabalho de campo de Marvin Harris seria publicado em 1959 e daria azo à
polémica entre Rita Ferreira e o antropólogo norte-americano a que fizemos referência acima
(ver Harris 1959; Macagno 1999, 2015, 2016; Pereira 1986).
19. Clyde Mitchell foi um antropólogo e sociólogo britânico que ajudou a fundar o Rhodes-
Livingston Institute, na Rodésia do Norte (Zâmbia). Influenciado por Max Gluckman viria a
transferir-se para a Universidade de Manchester. Rita Ferreira alude ao seu livro The Yao Village: A
Study in the Social Structure of a Malawian Tribe (Mitchell 1956).
20. Refere-se ao texto citado de A. Rosado, “Temas e critérios – Reposta à letra: será despeito ou o
Sr. Dr. não terá visto bem?…”, Notícias, 15/3/1958, pp. 1 e 8.
21. O psicanalista Abram Kardiner e o antropólogo Ralph Linton publicaram, em 1939, The
Individual and His Society: the Psychodynamics of Primitive Social Organization, onde expuseram o
conceito de “estrutura básica de personalidade” (Kardiner e Linton 1939).
22. Linton (1945: 21).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
143
23. Referência ao inquérito realizado por James West, pseudónimo de Carl Withers, em Plainville,
uma pequena cidade nas montanhas Ozarks, no Missouri, que permitiu a Kardiner aprofundar o
conceito de “estrutura básica de personalidade” (Kardiner at al. 1945).
24. Balandier (1951).
25. Refere-se à obra do psicanalista francês Octave Mannoni, Psychologie de la Colonisation
(Mannoni 1950).
26. O conceito foi cunhado durante a visita oficial de Freyre a Portugal e às colónias portuguesas
(Freyre 1953), embora já estivesse em gestação desde Casa-Grande & Senzala (Freyre 1933). Em
traços gerais, o luso-tropicalismo postula a especial capacidade de adaptação dos portugueses aos
trópicos, não por interesse político ou económico, mas por empatia inata e criadora. A aptidão do
português para se relacionar com as terras e gentes tropicais, a sua plasticidade intrínseca,
resultaria da sua própria origem étnica híbrida, da sua “bi-continentalidade” e do longo contacto
com mouros e judeus na Península Ibérica, nos primeiros séculos da nacionalidade,
manifestando-se sobretudo através da miscigenação e da interpenetração de culturas.
RESUMOS
Este in memoriam revela que num artigo que ficou inédito, enviado em carta a Jorge Dias, António
Rita Ferreira criticou a falta de fundamentação sociológica do luso-tropicalismo em Moçambique.
Acrescenta densidade à figura do antropólogo amador que ficou conhecido pela polémica com
Marvin Harris, mostra a cumplicidade entre os dois antropólogos portugueses, não obstante os
seus diferentes percursos e perspetivas, e confirma as potencialidades da correspondência
privada enquanto fonte histórica.
This in memoriam reveals that in an unpublished article attached to a letter to Jorge Dias, António
Rita Ferreira criticized the lack of sociological foundation of the luso-tropicalism in Mozambique.
It adds density to the figure of the amateur anthropologist who became known for the
controversy with Marvin Harris, unveils the complicity between the two Portuguese
anthropologists, despite their different paths and perspectives, and confirms the potentialities of
private correspondence as historical source.
ÍNDICE
Palavras-chave: antropólogos, colonialismo, correspondência, luso-tropicalismo, Moçambique
Keywords: anthropologists, colonialism, correspondence, luso-tropicalism, Mozambique
AUTORES
CLÁUDIA CASTELO
Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, Portugal
claudiacastelo@ces.uc.pt
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
144
VERA MARQUES ALVES
Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA), Universidade de Coimbra, Portugal
vera.mmma@gmail.com
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
145
Emília Pietrafesa de Godoi and Marcelo Moura Mello (dir.)
Dossiê "Entre seres intangíveis e
pessoas: experiência e história"
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
146
Entre seres intangíveis e pessoas:
uma introdução
Between intangible beings and persons: an introduction
Emília Pietrafesa de Godoi e Marcelo Moura Mello
1 Este dossiê resulta de um diálogo antropológico entre pesquisadores que colocaram a
seus campos de pesquisa etnográfica questões concernentes à participação de seres
intangíveis na vida das pessoas. Esse diálogo encontrou o seu lugar de forma mais
sistemática no grupo de trabalho “Entre seres intangíveis e pessoas: experiência e
história”, coordenado por Emília Pietrafesa de Godoi e Marcelo Moura Mello no âmbito
da 30.ª Reunião Brasileira de Antropologia.1 Os artigos aqui reunidos resultam das
comunicações apresentadas e dos debates encetados naquele momento.
2 Quando falamos em participação de seres intangíveis na vida das pessoas, não há como
não nos remetermos ao conceito lévy-bruhliano de “participação” (Lévy-Bruhl 1998
[1949]). Para o autor, a ideia de que as pessoas participam umas das outras “num
processo de partibilidade constitutiva era o que explicava o pensamento mágico e
estava na raiz dos próprios fenômenos identitários da vida pessoal e familiar” (Pina-
Cabral e Godoi 2014: 14). Revisitando continuamente sua própria obra, Lévy-Bruhl
reteve o senso de que participações eram indispensáveis à própria existência dos seres
(Sahlins 2013), contribuindo decisivamente para as discussões em torno da noção de
pessoa, questionando seja a suposta singularidade de indivíduos contidos em si mesmos
(Pina-Cabral 2018), seja a partição entre o mundo dos vivos e o dos mortos (Mosko
2017).
3 Os resultados das pesquisas que ora se objetivam na forma dos artigos aqui
apresentados nos levam a propor que não apenas as pessoas participam umas das
outras, mas outros seres também; pois longe de estarem confinados a cosmologias,
sistemas de ideias, representações e planos de existência cerrados, entes espirituais
estão imersos no mundano e participam ritual e cotidianamente da vida dos humanos. E
se, de um lado, suas características e seus atributos permitem antever os
desdobramentos de suas ações, de outro, suas capacidades e potências são tão
inesperadas quanto transgressivas, na medida em que seus atos e os efeitos de suas
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
147
presenças atravessam fronteiras entre o ritual e o cotidiano, o sagrado e o mundano, o
passado e o presente, o privado e o público. Seres intangíveis estão continuamente em
movimento no tempo e no espaço, traçando caminhos e forjando (novas) relações, tanto
no plano terreno quanto no espiritual.
4 Os artigos que compõem esse dossiê abordam diversas ordens de intersecção e
participação entre as vidas de humanos e trajetórias de entes espirituais (espíritos,
exus, pombagiras, encantados, mortos, ancestrais, caboclos, entre outros). Veremos de
que modo a copresença e participação desses seres no mundo social é pensada e vivida
em diversos espaços de experiência, lugares e momentos, nos distintos contextos
etnografados.
5 É sabido que entes espirituais ocuparam um lugar de destaque na produção
antropológica desde os primórdios da disciplina, desde as teorizações de Tylor (1871)
sobre o animismo até as monografias consagradas à ação de mortos no plano terreno,
como o estudo pioneiro de Malinowski (1988 [1916]). Os modos pelos quais espíritos se
tornaram passíveis de compreensão no quadro do regime de factualização da ciência
variou ao longo do tempo, embora os enfoques consolidados tenham oscilado, via de
regra, entre a sociologização e a psicologização dos espíritos, para que esses
adquirissem um lugar entre os objetos científicos (Vasconcelos 2003). De igual modo, as
reflexões em torno do entrelaçamento de entes espirituais às vidas de humanos
circunscreveram-se a domínios especializados, como a antropologia da religião.
6 Não é nossa intenção, aqui, revisar a extensa produção bibliográfica em torno de entes
espirituais ou sobre temáticas relativas, por exemplo, à possessão espiritual na
antropologia (para panoramas mais detalhados, ver Boddy 1994; Engelke 2018; Lambek
1981), mas, antes, situar este dossiê à luz de desdobramentos teóricos e metodológicos
recentes. Coletâneas como aquelas editadas por Blanes e Espírito Santo (2014), Espírito
Santo e Tassi (2013) e Johnson (2014) não só congregam pesquisas etnográficas
realizadas em várias partes do mundo como repensam criticamente os conceitos, tais
como os de crença, normalmente empregados para se pensar entes espirituais. Não
obstante as diferenças de enfoque e as filiações teóricas específicas a esse conjunto
heteróclito de trabalhos, nota-se uma preocupação comum em expandir os enfoques
centrados em cosmologias, em rituais e na religião, abarcando questões relativas à
história, à materialidade, à política e à economia (Mello 2016; Godoi 2014).
7 Ao mesmo tempo, sem negar a importância de se descrever atentamente os contextos
nos quais humanos e não humanos interagem, tais estudos sugerem que formas
espirituais de existência não devem ser concebidas, meramente, como epifenômenos de
configurações sociopolíticas ou históricas “mais reais”. Assim, as trajetórias de entes
espirituais no plano terreno se interseccionam com outros domínios particulares de
experiência, como sonhos, visões, intuições, revelando muito sobre as histórias de vida
de humanos. A copresença de seres intangíveis e humanos revela-se central, seja em
narrativas e discursos, seja em corpos e na constituição de pessoas. Longe, portanto, de
serem apartados, os domínios espiritual e mundano se interseccionam, gerando uma
série de efeitos. Esses efeitos não são assumidos de antemão pelas contribuições aqui
reunidas, mas se dão ao conhecimento etnograficamente, em diálogo com
entendimentos locais de homens e mulheres em circunstâncias específicas.
8 Ao abordarem quatro histórias no artigo que abre este dossiê, “ ‘A família de Légua está
toda na eira’: tramas entre pessoas e encantados”, Martina Ahlert e Conceição de Maria
Teixeira Lima pensam relações imersas em tramas familiares que apontam para os
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
148
diversos agenciamentos constitutivos de pessoas e encantados no estado do Maranhão,
no Brasil. O convívio entre essas personagens não se restringe a espaços específicos,
tampouco limita-se ao âmbito privado, na medida em que encantados interagem com
humanos em diversos domínios sociais (não só o religioso ou o ritual) e de experiência
(como sonhos). Ademais, essas entidades envolvem-se tanto com as pessoas que as
recebem como com seus parentes, vizinhos e amigos. Se, de um lado, essas relações
promovem o compartilhamento de formas de cuidado e de companhia, de outro lado,
são marcadas também por rupturas, quebras de vínculo, conflitos e afastamentos. Em
diálogo com a literatura sobre religiões de matriz africana no Brasil e com aportes da
antropologia a respeito de noções como pessoa e participação, as autoras demonstram
como os caminhos que compõem uma pessoa e sua vida estão estritamente ligados a
heranças relacionais precedentes, passíveis de serem transformadas com o desdobrar
das relações entre encantados e humanos ao longo do tempo.
9 Já Márcia Nóbrega, no artigo “Variações sobre livusias: coincidência entre a terra e os
(fim de) mundos contidos numa ilha no rio São Francisco, Brasil”, analisa de que forma
pessoas e espíritos (“almas” e “caboclos”) convivem e povoam o espaço da Ilha do
Massangano, situada no trecho submédio do rio São Francisco, no semiárido
nordestino, entre os estados da Bahia e de Pernambuco, no Brasil. A tentativa da autora
de compreender os processos por meio dos quais os espíritos, em suas múltiplas
modulações, se fazem sentir, é particularmente atenta à pragmática dos efeitos de
almas e caboclos, à coincidência de mundos em uma mesma terra. Nóbrega acompanha
os habitantes do local, dando proeminência a conhecimentos que articulam a presença
desses seres à força dos regimes das águas – cujas correntes foram afetadas pela
construção de um complexo de barragens – e sua relação com a “terra firme”,
espreitada pela iminente morte do rio. Longe de propor imagens de fixidez, o artigo
demonstra como o conhecimento se faz pelo caminhar, por deslocamentos, pelos
movimentos e movimentações de mundos onde vivem pessoas e espíritos. Em suma, ao
falar do mundo, os habitantes da Ilha do Massangano fazem afirmações de vida: de onde
se vive, com que se vive, de como se vive e de como se caminha.
10 Em seu artigo “No-humanos que hacen la historia, el entorno y el cuerpo en el Chaco
argentino”, Florencia Tola analisa os efeitos de entidades não humanas (fenômenos
atmosféricos, mortos, donos de animais, pássaros, etc.) entre os índios tobas (qom) do
Chaco argentino, em três domínios analíticos. Primeiramente, a autora se debruça
sobre os relatos indígenas acerca da conquista estatal de seus territórios no final do
século XIX, nos quais entes não humanos incidiram no devir dos antigos qom, ocupando
um papel central na maneira pela qual os indígenas modularam, relataram e viveram a
passagem do tempo e sua historicidade. Em seguida, Tola sugere que o entorno dos qom,
longe de ser um espaço neutro provedor de recursos naturais, apresenta determinadas
características que são lidas como rastros deixados por seres não humanos. O corpo-
pessoa dos tobas é um espaço socialmente transformado, cujo motor são outros
acontecimentos nos quais diversas entidades intervêm, promovendo transformações.
Por fim, a autora descreve diversas situações cotidianas atravessadas por vínculos e
comunicações com animais, plantas e fenômenos atmosféricos. Para a autora, entes não
humanos não se situam no âmbito metafórico, discursivo ou no plano mítico. A
ontologia toba constitui uma forma de perceber, se relacionar e atuar em um mundo no
qual diversos não humanos definem o corpo-pessoa, o entorno e a ação humana ao
longo do tempo.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
149
11 Privilegiando questões relativas à existência em si (ontologia), para além de questões de
sentido, Moisés Lino e Silva, no artigo “Ontologia da confusão: Exu e o Diabo dançam o
‘Samba do Crioulo Doido’ ”, analisa os modos pelos quais distintas formas de
conhecimento influenciam a maneira como moradores da favela da Rocinha, na cidade
do Rio de Janeiro, reconhecem, vivenciam e lidam com confusões em suas experiências
diárias. Além de descrever confusões específicas em um ritual de umbanda, o autor
argumenta que a existência de Exu – divindade associada, nas cosmologias de religiões
afro-brasileiras, a acordos e desacordos, à ordem e à confusão – tem consequências
diretas no entendimento da confusão no cotidiano da Rocinha, para além do domínio
religioso. Lino e Silva apresenta um cenário ainda mais complexo ao abordar as
considerações de evangélicos neopentecostais da Rocinha, que se recusam
ostensivamente a celebrar confusões, fossem elas protagonizadas por humanos ou não
humanos. Ao levar em conta a diversidade de considerações epistemológicas de
diferentes moradores da favela, o autor agrega à sua análise as interseccionalidades
entre religião, gênero e sexualidade, bem como as lutas e os conflitos de poder que
asseguram ou negam a existência e o reconhecimento de confusões diversas.
12 Esse dossiê, assim apresentado, pretende constituir-se num estímulo ao diálogo e num
convite ao leitor e à leitora para que teçam seus próprios arranjos das contribuições
trazidas pelos artigos resultantes de estudos etnográficos em diferentes contextos
sobre temas, desde cedo, muito caros à antropologia.
BIBLIOGRAFIA
BLANES, Ruy, e Diana ESPÍRITO SANTO (orgs.), 2014, The Social Life of Spirits. Chicago, The
University of Chicago Press.
BODDY, Janice, 1994, “Spirit possession revisited: beyond instrumentality”, Annual Review of
Anthropology, 23: 407-434.
ENGELKE, Matthew, 2018, “Spirit”, em Gaurav Desai e Adeline Masquelier (orgs.), Critical Terms for
the Study of Africa. Chicago, The University of Chicago Press, 288-301.
ESPÍRITO SANTO, Diana, e Nico TASSI (orgs.), 2013, Making Spirits: Materiality and Transcendence in
Contemporary Religions. Londres, I. B. Tauris.
GODOI, Emília Pietrafesa de, 2014, “Mobilidades, encantamentos e pertença: o mundo ainda está
rogando, porque ainda não acabou”, Revista de Antropologia, 57 (2): 143-170.
JOHNSON, Paul C. (org.), 2014, Spirited Things: The Work of Possession in Afro-Atlantic Religions.
Chicago, The University of Chicago Press.
LAMBEK, Michael, 1981, Human Spirits: A Culture Account of Trance in Mayotte. Cambridge,
Cambridge University Press.
LÉVY-BRUHL, Lucien, 1998 [1949], Les Carnets de Lucien Lévy-Bruhl, Paris, Presses Universitaires de
France, org. Bruno Karsenti.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
150
MALINOWSKI, Bronislaw, 1988 [1916], “Baloma: os espíritos dos mortos nas ilhas Trobriand”, em
B. Malinowski, Magia, Ciência e Religião. Lisboa, Edições 70, 155-255.
MELLO, Marcelo Moura, 2016, “Entidades espirituais: materializações, histórias e os índices de
suas presenças”, Etnográfica, 20 (1): 211-225.
MOSKO, Mark, 2017, Ways of Baloma: Rethinking Magic and Kinship from the Trobriands. Chicago, The
University of Chicago Press.
PINA-CABRAL, João de, 2018, “Modes of participation”, Anthropological Theory, 18 (4): 435-455.
PINA-CABRAL, João de, e Emília Pietrafesa de GODOI, 2014, “Apresentação: vicinalidades e casas
partíveis”, Revista de Antropologia, 57 (2): 11-21.
SAHLINS, Marshall, 2013, What Kinship Is and Is Not. Chicago, The University of Chicago Press.
TYLOR, Edward, 1871, Primitive Culture. Londres, John Murray.
VASCONCELOS, João, 2003, “Espíritos clandestinos: espiritismo, pesquisa psíquica e antropologia
da religião entre 1850 e 1920”, Religião e Sociedade, 23 (2): 92-126.
NOTAS
1. A 30.ª Reunião Brasileira de Antropologia foi realizada na Universidade Federal da Paraíba, em
João Pessoa, no estado da Paraíba, Brasil, em agosto de 2016.
RESUMOS
Este dossiê reúne artigos que abordam diversas ordens de intersecção e participação entre as
vidas de humanos e seres como espíritos, exus, pombagiras, encantados, mortos, ancestrais,
caboclos e vários outros. Os estudos aqui apresentados tratam da copresença e da participação
destes seres no mundo social e de como essa copresença e essa participação são pensadas e
vividas em distintos contextos etnografados. Ao trazer esses debates, o dossiê pretende somar-se
a contribuições recentes, que, ao tratar destes seres, propõem pensar em novos termos questões
relativas à história, à política, à materialidade, expandindo o campo dos estudos do ritual e da
religião na antropologia.
This special issue brings together articles that approach distinct orders of intersection and
participation of the lives of humans and beings as spirits, eshus, pombagiras, encantados, dead,
ancestors, caboclos, and many others. The articles here presented approach the co-presence and
the participation of these beings in the social world, and how this co-presence and participation
are thought and lived in different ethnographical contexts. Addressing these debates, the special
issue aims to be an addition to recent studies that, in approaching these beings, propose to think
in new terms questions related to history, to politics, to materiality, expanding the field of
studies about ritual and religion in anthropology.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
151
ÍNDICE
Keywords: intangible beings, persons, participation
Palavras-chave: seres intangíveis, pessoas, participação
AUTORES
EMÍLIA PIETRAFESA DE GODOI
Universidade Estadual de Campinas, Brasil
emilia.pietrafesa@gmail.com
MARCELO MOURA MELLO
Universidade Federal da Bahia, Brasil
mmmello@gmail.com
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
152
“A família de Légua está toda na
eira”: tramas entre pessoas e
encantados
“Légua’s family are all by the threshing floor”: interactions between people and
enchanted entities
Martina Ahlert e Conceição de Maria Teixeira Lima
Apresentação
1 A parteira que “pegou” Pedro em seu nascimento foi Chica Baiana, incorporada em seu
avô materno. O casamento de Dona Regina foi previsto por Coli Maneiro ainda em sua
gestação, durante um festejo. O filho de Luiza negociou com Duardo Légua o fim do
consumo de bebidas alcoólicas quando este “descia”. Dona Vanda “recebeu” Seu Zé
Porteira de sua mãe, quando ela faleceu e deixou de chefiar a tenda de terecô do
povoado onde viviam. Como essas, são diversas as situações nas quais pessoas (como
Pedro, Regina, Luiza e Vanda) acionam encantados (como Chica Baiana, Coli Maneiro,
Duardo Légua e Zé da Porteira) para falar sobre quem elas são, para contar sobre suas
famílias, para explicar suas trajetórias.
2 Essas situações nos foram descritas em uma pesquisa etnográfica em Codó, durante os
últimos oito anos.1 Codó é um município de cerca de 120.000 habitantes, localizado na
região leste do estado do Maranhão, no nordeste do Brasil. A cidade recebeu certa
notoriedade, entre outros motivos, pela presença de pais e mães-de-santo e pela
quantidade de tendas (como são chamados os espaços onde são realizados os rituais) de
religiões afro-brasileiras no local.2 O terecô é a religião tradicional da cidade, mas se
estima que a umbanda tenha chegado na década de 1930 e o candomblé durante os
anos 80.
3 No terecô, ou tambor da mata, as pessoas recebem, em seus corpos, seres conhecidos
como encantados. Os encantados não são percebidos como deidades, pois foram pessoas
e, mesmo na condição de entidades, têm comportamentos próximos aos humanos. Eles,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
153
entretanto, não passaram pela experiência de morte (Ferretti 2000). Além de serem
recebidos pelas pessoas que os corporificam, podem ser vistos como “espíritos”,
sentidos em sonhos ou percebidos em objetos que lhes pertencem. Com a presença da
umbanda e do candomblé na cidade, os encantados se encontram, nas tendas, com
diversas outras entidades. As pessoas, entretanto, sabem precisar os nomes e as famílias
dos encantados considerados do terecô – ainda que as fronteiras entre as religiões não
sejam definidas de forma unânime.3
4 As entidades da região de Codó são chamadas de encantados da mata; uma das famílias
mais importantes desse grupo é a de Légua Boji Buá da Trindade. 4 Ela é formada pelos
pais desse encantado, sua esposa, irmãos e sobrinhos, além de uma grande quantidade
de filhos e netos. “A família de Légua está toda na eira”, frase que nomeia esse texto, é
um dos pontos cantados nas festas de terecô nas tendas da cidade para convocar a
presença dos Léguas. Quando se canta para essa família, é comum ver entidades
colocarem chapéus e entoarem pontos sobre bois e outros animais do campo, pois a sua
história é relacionada à mata e à lida com os elementos do mundo rural.
5 Membros da família de Légua Boji Buá são personagens da maioria das histórias que
contamos nesse texto. Nele, nossa intenção é pensar as relações entre pessoas e
encantados a partir de experiências onde eles se cruzam em tramas familiares – que
envolvem partos realizados por entidades, casamentos por elas previstos e anunciados,
conexões geracionais e heranças em momentos de morte. Buscamos, com essas
histórias, mostrar a permeabilidade e os diversos agenciamentos constitutivos de
pessoas e encantados, quando chamamos atenção para os princípios que regem as
relações entre uns e outros e a multiplicidade de formas a partir das quais as entidades
se apresentam às pessoas.
Quatro tramas
6 Um terecozeiro (também chamado de “brincante”), costumeiramente, sente o sinal dos
encantados (a “mediunidade”) ainda criança, sob a forma de aflições diversas, narradas
como confusão mental, descontrole do corpo, doenças e loucura. A partir de então, uma
relação não linear passa a ser estabelecida e lentamente construída entre a pessoa e as
entidades (Ahlert 2013, 2016). Um brincante recebe diversos encantados e alguns deles
têm presença breve e descontínua, pois estão apenas “de passagem” pelo seu corpo.
Outros, entretanto, o acompanham por muitos anos. Com esses últimos, não é incomum
que se criem relações intensas, ao ponto de podermos falar em participação (Levy-
Bruhl 2008 [1922]; Goldman 1984; Ahlert 2016), ou seja, em uma noção de pessoa da qual
as entidades fazem parte.
7 A discussão sobre a noção de pessoa nas religiões afro-brasileiras marca importante
literatura sobre o tema, especialmente no que tange aos escritos sobre o candomblé,
seja ele nagô ou angola (Bastide 2000; Goldman 1984, 1987). Para Goldman (1984, 1987),
a pessoa no candomblé é constituída em um processo que tem a feitura (o processo de
iniciação em um terreiro) como momento fundamental. É a partir dela que se forma a
“amálgama pessoa-orixá” (Flaksman 2016a: 27), que passa então a ser produzida
durante a trajetória de um filho ou pai-de-santo. Sansi afirma: “A iniciação dura muitos
anos, num intercâmbio em que a ‘pessoa’ e o ‘santo’ se constroem mutuamente, porque
fazer o santo é, de facto, fazer-se a si mesmo” (Sansi 2009: 144). 5
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
154
8 No terecô, o termo utilizado para falar sobre a aproximação a uma casa religiosa é
“preparação”. Nela, o pai ou mãe-de-santo “organiza as correntes” de um filho,
conversando com as entidades e estabelecendo, com elas, atividades e obrigações. Não
existe um procedimento único para realizar uma preparação; antes, cada caso parece
ser pensado a partir das demandas do encantado que se manifesta com mais força na
pessoa, também chamado de “chefe de croa”. É a partir desse momento que as aflições e
manifestações das entidades se tornam minimamente controladas.
9 Clara Flaksman (2016a), em uma etnografia realizada no terreiro do Gantois, em
Salvador, toma a categoria êmica de “enredo” para pensar, não apenas a noção de
pessoa constituída na relação entre pessoa e orixá, mas também as relações em um
sentido mais amplo (que conectam histórias familiares e orixás entre si):
“Enredar, nesse caso, significa não somente se envolver numa trama, numa história,
num entrecho. Ter enredo é ter uma relação; ou melhor, um complexo de relações,
que podem se dar de inúmeras maneiras e em planos diferentes – pois um enredo
pode consistir de relações tanto entre orixás quanto entre humanos e ainda, muito
frequentemente, entre humanos e orixás” (Flaksman 2016a: 14). 6
10 Apesar de enredo ser um termo utilizado no contexto do candomblé soteropolitano, ele
pode nos ajudar a pensar as informações trazidas nesse texto – que remetem a histórias
que se passam entre encantados, e entre encantados e seus “cavalos”. 7 Igualmente,
ajuda a pensar que as entidades não se relacionam apenas com aqueles que as recebem,
mas com seus parentes, vizinhos e amigos. Dessa forma, os familiares dos brincantes
participam ativamente das relações com os encantados e podem arbitrar os encontros,
se colocarem contra a presença desses seres, se sentirem obrigados a aceitá-los ou
contribuir para o desenvolvimento da vida “no santo”. Isso não é, evidentemente,
exclusivo do terecô. Em outro contexto, analisando especialmente a relação das
pombagiras com os maridos das mulheres nas quais incorporam, Capone (2009) registra
que “o médium, embora se submeta à vontade dos espíritos, também impõe essa
vontade aos que o cercam” (Capone 2009: 191). Em sentido semelhante, Véronique
Boyer-Araujo (1993) mostra como o matrimônio e a família são impactados pelas
relações estabelecidas entre a pessoa e suas entidades, indicando como, para além de
uma relação individual, a mediunidade fala de uma experiência também coletiva.
11 Pensar as relações das entidades com as famílias nos permite falar das intervenções
“sobrenaturais” no cotidiano. Segundo Birman (2005), essas manifestações são um dos
elementos que pautam a importância de analisar a agência destes seres, ou seja, seu
poder de ação e produção de efeitos na vida das pessoas. Como afirma a autora,
considerar a agência implica em conceder seriedade à “realidade tal como concebida
pelos religiosos” (Birman 2005: 409), algo que nos permite ir além de uma explicação
funcional ou meramente pragmática das experiências religiosas. Nesse sentido, a
relação entre uma pessoa e suas entidades remete a uma difícil “gestão da autonomia”:
“O que ‘elas’, entidades, fazem para proteger seus filhos-de-santo não é algo que
possa ser separado dos atributos que as singularizam – seus temperamentos, gostos,
moralidades bem como as formas como se relacionam com a família da médium,
como cônjuges e filhos, sem falar dos clientes. O que as entidades fazem é algo que a
médium precisa obrigatoriamente levar em conta e que, como tudo na vida, precisa
ser objeto de cuidados específicos” (Birman 2005: 411). 8
12 Esses cuidados, como desejamos demonstrar, são importantes, não apenas na relação
entre o “cavalo” e a entidade, mas também entre membros da mesma família e entre
membros da família dos encantados. Com esse intuito, na sequência do texto,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
155
apresentamos quatro histórias – ou trechos de biografias – onde os encantados e as
famílias de pais e mães-de-santo estão em interação. Elas nos permitem desdobrar
considerações sobre cuidado e proteção; sobre continuidades e rupturas nas
experiências marcadas, continuamente, pela presença dos encantados. Permitem
pensar ainda nas formas variadas pelas quais esses seres se apresentam às pessoas, de
acordo com o momento e o espaço em que se manifestam.
Dona Chica pegando menino
13 Pedro era um pai-de-santo jovem, de pouco mais de 30 anos, que vivia em um bairro
próximo ao centro de Codó. Morava em uma casa simples, com diversos quartos que
abrigavam sua mãe, sua irmã e sobrinhos. Dois quartos da casa eram destinados ao
trabalho com as entidades e ao atendimento aos “clientes” que pro-
14 curavam seus serviços. Não era incomum haver uma circulação grande de pessoas pelo
espaço doméstico, onde nós mesmas estivemos diversas vezes, assistindo novela com a
mãe de Pedro, conversando, comendo ou esperando alguma consulta.
15 Os encantados sempre fizeram parte das histórias de Pedro e o acompanhavam desde
que nasceu. Segundo nos contou, o seu parto foi feito por Dona Chica Baiana, entidade
do seu avô, “em cima” dele – ou seja, nele incorporada. Segundo a mãe de Pedro, Dona
Chica acompanhou todo o crescimento do menino, período em que pregava peças
escondendo a criança pela casa para que não fosse encontrada. Ainda na infância, Pedro
sentiu os primeiros sinais de mediunidade, quando via diversas coisas que o
assustavam, o faziam gritar e chorar. Diante dessas manifestações, foi acompanhado
pelo avô a partir dos sete anos de idade. Nesse momento, junto com um primo, passou a
residir e ser criado na casa de Seu Gili – como era conhecido seu avô, um afamado
brincante do tambor, padrinho de importantes casas de terecô em Codó.
16 Os dois meninos conviveram com a familiaridade com que o avô se relacionava com as
tendas e as “brincadeiras”. Pedro se lembra de ouvir quando ele, depois de colocá-los
para dormir, saía para dançar terecô. Recorda-se, ainda, de segui-lo, atrás do som dos
tambores, para assistir os toques e giras. Nesse período, as crianças não podiam dançar
nos salões e Pedro era reprimido pelos encantados do avô, que acreditavam que ele era
muito novo para o tambor. Outros encantados, porém, logo percebiam sua mediunidade
e o levavam para dentro do salão, onde participava das “giras”.
17 Pouco tempo depois, quando Pedro tinha nove anos, Seu Gili faleceu. Após sua morte,
Chica Baiana, antes recebida pelo avô, “passou para a croa” de Pedro, ou seja, foi
recebida pelo menino.
“Dona Chica Baiana está na vida da minha família há muitos anos. Acho que mais de
100 anos. Desde minha bisavó, mãe do meu avô, que chamava de Catita e que
morreu com 98 anos. Mas, quando morreu, ela já tinha preparado meu avô para
cuidar da missão dela na Terra. E quando eu tinha sete anos meu avô me preparou,
mas acho que Dona Chica Baiana me acompanha desde o ventre da minha mãe,
porque quando eu nasci, a parteira que me pegou foi Dona Chica Baiana,
incorporada em meu avô” [Pedro, em 24 de setembro de 2011].
18 Aos dez anos, Pedro já trabalhava com os encantados, cuidando de pessoas da família.
Ele é um dos casos – existem outros na cidade – de pessoas que não foram “feitas” ou
preparadas por nenhum pai-de-santo (Sansi 2009). Segundo nos contou, ele foi “zelado”
por uma pessoa de mais tempo na religião, mas nunca precisou de mestre, “porque já
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
156
vem toda uma preparação de fundo” (forma que referia para dizer que recebeu uma
herança). Em virtude disso, se referia à Dona Chica Baiana, encantada recebida do avô,
como sua mãe-de-santo.
19 Durante nosso campo, a irmã de Pedro, que vivia na mesma casa que ele, teve um filho.
Durante toda a gravidez, Dona Chica Baiana esteve rezando, benzendo e tratando com
remédios a barriga da futura mãe. Segundo a própria Chica nos confessou – quando
conversamos em uma sessão de atendimento em que ela estava incorporada em Pedro
–, ela estava “segurando” a gravidez diante de uma ameaça de eclampsia. A irmã de
Pedro conversava conosco sobre a gestação e a presença de Chica Baiana, quando disse:
“Durante a gravidez eu sempre via ela. À noite, eu dormindo, eu sentia ela, eu via
ela. Eu perguntava para mamãe porque Dona Chica me visitava tanto à noite […] eu
não sabia o porquê. Era porque eu estava correndo risco de vida e o meu nenê
também. Quando eu entrei na sala de parto eu não estava tendo força, eu chamei em
primeiro lugar por Deus e chamava por ela também…” [Eliane, em 24 de setembro
de 2011].
20 As pessoas da família do pai-de-santo, que foram para a maternidade no dia do parto,
viram a encantada – vestida de branco, de lenço na cabeça – entrar no espaço hospitalar
e acompanhar todo o nascimento da criança. Ela estava presente em espírito e não
incorporada, como nos explicaram.
As vidências de seu Coli Maneiro
21 Dona Regina e o pai-de-santo Zé Willan eram casados e viviam em um povoado do
município de Lima Campos, chamado Morada Nova. O povoado era formado por
algumas casas de taipa ou alvenaria e pela tenda Santa Bárbara. Seus moradores viviam
da plantação de gêneros alimentícios e da criação de alguns animais. Muitos deles
pertenciam à família extensa de Seu Zé Willan e de Dona Regina, alguns possuíam
mediunidade e brincavam terecô. A família do pai-de-santo é do povoado de Santo
Antônio dos Pretos, na zona rural de Codó, o mesmo local de origem do avô de Pedro,
espaço considerado de “encantaria forte”, ou mesmo como “terra de encantaria”.
22 A história do casal tem os encantados e os festejos de santo como elementos centrais.
Quando estava grávida de Regina, sua mãe teve problemas com a gestação e o médico
previu os riscos de morte dela e da criança. A avó materna, chorando por causa do
prognóstico, encontrou o encantado Coli Maneiro, irmão de Légua Boji (“em cima” de
um senhor antigo e muito conhecido, hoje falecido), em uma festa de tambor na casa de
Antoninha (casa onde o avô de Pedro era padrinho). Segundo conta Regina, Coli
conversou com sua avó:
“Aí Seu Coli disse pra ela [a avó], que ela [a mãe] não ia morrer, que eu ia nascer e
que eu ia ser dele. Assim a mamãe conta que eu ia ser dele. Aí eu acredito que eu ia
ser mesmo, porque o mundo dá muitas voltas, que hoje eu estou aqui, cuidando dele
[…] Mas quem ajeitou tudo, quem fez todo o processo para que eu nascesse, foi ele”
[Regina, em 25 de setembro de 2011].
23 Correu tudo bem no parto de Regina e ela cresceu sem apresentar sinais de
mediunidade, participando dos festejos de tambor apenas nos dias em que havia “baile
dançante”, para se divertir com os amigos e namorar. Seu pai e sua mãe, contudo,
dançavam terecô e cozinhavam em uma tenda que tinha um tamborzeiro muito
afamado, conhecido como Zé Willan. Em 1992, impressionada com as falas sobre a
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
157
notoriedade do músico, Regina acompanhou os pais em uma festa nessa tenda, para ver
de quem se tratava. Quatro anos depois, os dois estavam casados.
24 Seu Zé Willan, por sua vez, nasceu no período de um festejo de santo, em um parto
acompanhado por algumas entidades. Ele recebeu um encantado de herança do seu pai,
Coli Maneiro – o mesmo encantado que cuidara do nascimento de Regina e que havia
dito à sua avó que a criança da gestação de sua filha viveria e “seria dele”, pois estava
destinada a cuidar dele no futuro. Como se casou com um pai-de-santo que recebe o
encantado, Regina acredita que seu casamento é resultado deste enredo que envolve
pessoas e entidades. Anos depois, Regina também manifestou mediunidade e passou a
receber o encantado de sua mãe, Ricardo Légua. Ricardo é filho de Légua Boji e,
portanto, sobrinho de Coli Maneiro.
As ajudas de Supriano
25 Café começou a “radiar no santo” ainda criança, quando via coisas que lhe pareciam
dedos e ratos nas paredes de casa. Seu primeiro sentimento era de medo, mas junto
com sua mãe, também médium, aprendeu a ler esses sinais como encantaria e montou
um pequeno altar – uma “mesinha” – onde fazia pedidos e promessas para Nossa
Senhora das Candeias, ato que o ajudou a se sentir melhor. Aos 12 anos de idade, ele
sumiu por cinco dias e foi encontrado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, encantado
que era recebido por sua mãe. Café estava amarrado e dormindo embaixo de uma
árvore, com as calças dobradas e com o corpo coberto de fitas. Algumas pessoas
pensavam que ele já estava morto, mas ao ser levado para casa e posto em frente ao
altar, houve uma manifestação de seu encantado, Supriano, que disse ser “um castigo
para ele aprender a obedecer aos guias dele”. Se, com a manifestação mais frequente
dos encantados, ele pode contar com a ajuda da sua mãe, que o apoiava e ajudava com
as questões relativas ao terecô, seu pai, por sua vez, não aceitou a relação com as
entidades e, por esse motivo acabou se afastando, tanto dele quanto de sua mãe.
26 Ainda jovem, Café era muito vaidoso e gostava de jogar bola, mas foi avisado pelas
entidades que não poderia mais fazê-lo. Diante dos avisos dos encantados, ele conseguiu
se afastar de determinadas “vaidades”, menos do futebol. Por isso, segundo nos contou,
Supriano quebrou sua perna. Ele ficou muito tempo se recuperando desse acidente e se
lembra de se sentir plenamente curado apenas no dia que, vendo uma procissão de uma
tenda no seu bairro, foi tomado por um encantado que o colocou entre as pessoas que
seguiam o andor. Quando retomou a consciência, já sentia que sua perna tinha voltado
ao normal.
27 Nesse momento, Café começou a trabalhar providenciando objetos – como cachimbo,
fumo e velas – para as atividades com as entidades. Pelo convite de um amigo, foi à
Tenda Espírita de Umbanda Rainha Iemanjá, a maior tenda da cidade, que pertence ao
Mestre Bita do Barão. Lá foi recebido pela encantada do velho pai-de-santo, que
confirmou que sua presença era esperada no espaço. Foi nesse local que Café conheceu
uma brincante da casa, Deusimar, que se tornou sua esposa. Para poder sair com ela,
pensou ser mais prudente pedir autorização a Mestre Bita.
28 Após um tempo de namoro, Café e Deusimar foram morar juntos em uma casa alugada.
Apesar dos trabalhos realizados com os encantados, ele não conseguia suprir todas as
despesas domésticas. Foi quando Supriano lhe mandou um aviso, comunicando que em
sete dias receberia uma “herança” por ele enviada (a herança era um conselho, uma
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
158
indicação). Nesses sete dias, Café e a esposa passaram por diversas privações, pois
estavam com pouco dinheiro, até que lhes foi apresentado um terreno para compra.
Café foi conhecer o lugar e achou o chão muito ruim, inclinado e com muitas pedras,
mas seu encantado confirmou que deveria ir viver no local. O terreno custava 1200 reais
e, ao negociar o pagamento com a proprietária, Café combinou pagá-lo em seis parcelas
de 200 reais, dinheiro conseguido a partir do trabalho com a entidade. No espaço, na
parte da frente do terreno, construiu uma casa. Nos fundos, a tenda de umbanda.
A negociação com Duardo
29 Duardo Légua era um dos encantados recebidos por uma mãe-de-santo chamada Dona
Luizinha. Não era incomum que, após as giras de tambor em sua pequena tenda, ele
permanecesse para conversar conosco. As pessoas que frequentavam o local – as filhas-
de-santo, as irmãs biológicas e alguns vizinhos de Luiza – já eram com ele bastante
familiarizadas. Quando se apresentava, ele lembrava que seu nome era Duardo e não
Eduardo, e cantava os pontos que falavam sobre si. Sempre chegava brincando, com
uma postura que indicava o consumo de bebida alcoólica. Nas suas aparições, era
corriqueiro informarem que ele gostava de beber e que, antigamente, “bebia em cima”
de Luiza, ou seja, quando estava nela incorporado.
30 Esses episódios eram contados com alguma tensão, pois beber “em” Luiza não era bem
visto por seus familiares. Certa vez, como nos contaram posteriormente, o encantado
deixou a mãe-de-santo bêbada e deitada no chão para dar uma resposta ao pai dela, que
teria dito que nenhum espírito poderia deixar uma pessoa bêbada se ela não bebia.
Nesse dia, Duardo Légua desceu para trabalhar e, após finalizar a atividade, começou a
beber tanto que, quando ele “subiu”, a mãe-de-santo ficou muito mal, sem poder se
levantar. Tal atitude do encantado deixou o pai de Luiza muito triste.
31 Duardo, quando comentou a história, disse que o fizera para revelar seu poder ao pai de
Luiza, para mostrar a força da encantaria. Para ele, os familiares da mãe-de-santo
haviam duvidado de sua mediunidade, o que a levou a sofrer durante sete anos quando,
incompreendida, teve seu equilíbrio emocional abalado. Apesar de ter dificuldades de
relacionamento com parte da família da mãe-de-santo, o encantado conversava com
seus parentes e negociava determinados aspectos de sua postura, como, por exemplo,
deixar de beber quando estava incorporado, por causa do pedido do filho de Luiza:
“Agora eu larguei de fazer… Ela tem um filho que chama, o nome dele é Francisco
do Nascimento, mas ele é conhecido como Chiquinho! Eu chego na Dona Luiza como
eu cheguei agora e eu lançava cachaça pra todo mundo ver […] Aí, um dia, ele [o
filho de Luiza] chegou assim: ‘Você que é Seu Duardo Légua?’ Eu disse: ‘Eu mesmo,
meu filho, Duardinho aqui!’ Aí ele disse assim: ‘Eu vou lhe fazer só um pedido!
Nunca mais lance [beba] em cima de minha mãe!’ Eu digo: ‘Porquê, meu filho?’
[Chiquinho:] ‘Porque o povo diz que ela bebe cachaça e fica vomitando bêbada, e eu
nunca vi minha mãe bebendo […]’. Eu disse assim: ‘Meu filho, você é uma criança,
mas eu vou prometer pra você, eu, Duardinho Légua Boji Buá, uma banda de Deus
outra do Diabo, um lado faz bem outro faz mal, nunca dei nó pra ninguém dessa
terra desatar. Eu levo de caceta ou de saco de fubá, se eu não achar de fubá eu levo
de areia, mas só levo é cheio. Mas eu vou te dizer bem aqui, nunca mais eu lanço em
cima da tua mãe, nunca mais!’” [Duardo “em cima” de Luiza, após uma gira em sua
casa, em julho de 2015].
32 Nesse dia, Duardo negociou com Chiquinho um dos traços do seu comportamento e
marca de sua família, o consumo de bebida alcoólica. Foi quando passou a não beber
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
159
mais quando era recebido por Luiza. Isso não impediu que já chegasse bêbado, como
alegremente nos contou algumas vezes. A alegria, o tom provocativo e a animação eram
características suas quando vinha conversar no final das pequenas giras da tenda.
Quando se fazia presente na noite da maior festa da casa, entretanto, se comportava de
forma diferente. Em 2015, apareceu sério e ficou, a maior parte do tempo, sentado na
cadeira ao lado do altar. Levantou-se algumas vezes para dançar, mas não fez
brincadeiras com as pessoas. Após o episódio, ele foi indagado por um dos vizinhos da
casa, sobre sua seriedade. O encantado respondeu que era brincalhão e bêbado apenas
quando estava com as pessoas mais próximas e que, em outros lugares ou com
desconhecidos, ele não se comportava dessa forma. Nesses momentos, precisava estar
atento e proteger o espaço, pois a circulação de pessoas era intensa.
Tecendo relações
33 As quatro histórias apresentadas têm como personagens pessoas e encantados que se
conhecem e que convivem em tendas e rituais, mas também em diversos outros
contextos, na medida em que não há uma delimitação clara ou fronteiras marcadas
entre o que é considerado religioso e o que não é. Os encantados, portanto, impactam
no parentesco, na saúde, na construção das casas e das tendas. Igualmente, as histórias
mostram que receber um encantado tem uma dimensão individual (na constituição da
pessoa e no compartilhar do corpo) e outra coletiva, porque a mediunidade influencia
muitas das relações que alguém vive em sua vida, como, por exemplo, com os
familiares, os amigos e os vizinhos.
34 Como afirmamos no início do texto, essas histórias, em nossa pesquisa sobre o terecô,
são bastante recorrentes. Para um brincante não há nada extraordinário em um sinal
dado por um encantado ou em uma entidade recebida como herança de algum membro
da família. Como lembra Cardoso (2007), ao contar histórias sobre a ação do povo da rua
na macumba carioca, esses são contextos constituídos também pelas entidades, sem as
quais, portanto, a vida das pessoas não seria dotada de sentido. Para além de um
contato e de um engajamento no âmbito do estritamente religioso, portanto, as
relações com os encantados constituem aspectos práticos, alianças para o
enfrentamento das dificuldades – como se torna evidente, por exemplo, na aquisição do
terreno de Café – e das situações surgidas na vida cotidiana, como indicam, para outros
contextos, Stefania Capone (2009) e Véronique Boyer-Araujo (1993). É a partir dessas
histórias – onde os encantados preveem o futuro, definem caminhos, cuidam,
acompanham e conversam com as pessoas – que gostaríamos de falar sobre questões
relativas à família, cuidado e agência.
Família, cuidado e companhia
35 Os encantados interagem com famílias: foi à avó de Regina que Coli Maneiro comunicou
suas previsões; foi o filho de Luiza que negociou com Duardo Légua o consumo de
bebida alcoólica; foi a Café e sua esposa que Supriano avisou sobre a escolha do terreno
da casa; foi do avô que Pedro recebeu Chica Baiana, outrora sua parteira. As entidades
reforçam laços entre determinadas pessoas e traçam conexões entre gerações, na
medida em que, “não apenas adensam relações que já são fortes, como marcam
positivamente vínculos cuja importância cambia ao longo da história de vida ou que
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
160
estão em tensão com outros laços igualmente significativos para os sujeitos” (Rabelo
2008: 193). A vinda e também a passagem das entidades marcam, portanto,
determinadas conexões familiares e chamam atenção para aspectos não lembrados ou
não evidentes das biografias, como também indicou Clara Flaksman (2016b), ao analisar
as relações entre o parentesco de sangue e o parentesco de santo no candomblé.
36 A presença dos encantados impacta a vida das pessoas, acionando diversas
temporalidades. No momento em que se apresentam, as entidades trazem
transformações com as quais os sujeitos precisam lidar – elas modificam, por exemplo,
formas de educação e de coabitação, como na história de Pedro que, ao ter sua
mediunidade reconhecida, vai morar na casa do avô. Ao mesmo tempo, as entidades se
projetam para o futuro e induzem as pessoas que as recebem a fazer o mesmo, como
aconteceu com Regina e a tarefa de cuidar de Coli Maneiro quando se tornasse adulta.
Igualmente, reativam conexões do passado, pois podem ser recebidas como herança
diante da situação de morte de um familiar, o que aciona uma leitura de momentos
pregressos na busca de sinais que auxiliem a compreender a transmissão da entidade.
Essas diferentes temporalidades estão entretecidas na trajetória dos sujeitos: voltando a
Pedro, vemos que Chica Baiana conviveu e convive com diferentes gerações familiares,
participando de importantes momentos – aniversários, casamentos, nascimentos. Faz,
ainda, parte dos planos para o futuro, quando se especula qual das crianças receberá a
encantada depois da morte do pai-de-santo.9 A herança, como pontua Rabelo (2008,
2014) para o caso do candomblé nagô em Salvador, carrega tanto a ideia de uma dívida
contraída com a entidade, quanto a perspectiva do cuidado. Desta forma, existe a
“formulação de que a afinidade com o candomblé e com os orixás não é simplesmente
uma característica da pessoa singular, mas um traço de sua família, que a distingue e
singulariza enquanto portadora de uma obrigação herdada” (Rabelo 2008: 192).
37 Além de se relacionarem com familiares e conectarem pessoas nesse âmbito, os
encantados ainda são vistos como propulsores da inclusão de novas pessoas entre os
parentes, ou seja, são responsáveis por expandir as famílias. 10 O aumento pode ter como
vetor a relação de afinidade – quando entidades aproximam casais, como Café e a
esposa, ou Zé Willan e Regina. Uma segunda possibilidade é o compadrio, quando
podem se tornar padrinhos ou madrinhas de crianças. Pedro acionou ainda outra
possibilidade de inclusão, em uma conversa que tivemos, quando proferiu um
agradecimento aos encantados que recebia, não apenas por cuidarem dele, mas de
todos “aqueles que fazem parte da casa, que chega como cliente, mas termina fazendo
parte da família”. Sua irmã tinha nos dito algo semelhante havia pouco, ao nos contar
que Dona Chica Baiana, através dos atendimentos, possibilitava a convivência intensa
de alguns “clientes” com a família do pai-de-santo – o que os fazia continuar
frequentando a casa depois de encerrarem seus tratamentos.
38 É possível, portanto, fazer parentes, ou seja, incluir pessoas na família. O que faz um
parente, nesse sentido, é compartilhar cuidados e companhia, pois se espera que as
pessoas de uma mesma família – vivendo ou não próximas, sendo ou não consanguíneas
– cuidem umas das outras, lembrem-se dos seus membros e façam companhia uns aos
outros. Como em tantos outros contextos (Sahlins 2013; Pina-Cabral e Silva 2013),
cuidar é um ato fundamental no cotidiano das pessoas com as quais convivemos em
Codó, seja para vigiar as crianças, para a ida aos serviços públicos, no pagamento de
contas, nas trocas de alimentos para subsistência das casas ou nos diversos
encaminhamentos nas situações de doença e de morte.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
161
39 É possível ainda cuidar a partir do cultivo da lembrança, que acontece na presença e na
ausência das pessoas (vivas e mortas) e dos encantados. Cuidar a partir do lembrar-se
tem a ver com fazer companhia, falar sobre quem está longe, reconhecer familiares –
mesmo sem vê-los há muito tempo –, telefonar, mandar recados e notícias. Pode-se
ficar anos sem informações de algum primo ou tio, mas, em respeito às memórias dos
períodos vividos em proximidade ou do encontro em eventos familiares, a casa é aberta
para recebê-los, recursos financeiros são compartilhados, doentes recebem cuidado e
acompanhamento. As relações se desdobram no tempo porque são cultivadas na
lembrança, o que ativa a presença das pessoas.
40 Também pudemos perceber algumas medidas de cuidado entre as famílias dos
encantados. Muitas delas nos pareceram remeter ao âmbito do encontro entre as
entidades, ocasionado, em grande parte, por uma dinâmica de visitas que conecta
diferentes tendas em virtude da realização de suas festas. Leguinha, encantado jovem
da família de Légua Boji Buá da Trindade, certa vez (em janeiro de 2016) nos contou que
iria para um terecô na casa de Folha Seca, em Bacabal (outra cidade do Maranhão), pois
o encantado era de sua família. Disse-nos ainda que, em suas andanças, havia
encontrado Teresa Légua e que tinham conversado durante muito tempo. Ela o havia
presenteado, certa vez, com um chapéu – um dos acessórios mais utilizados pelos
membros da família de Légua. Ricardo Légua, incorporado em Regina, afirmou que
aprendeu a beber com seu Rei de Mina, filho de seu tio Coli Maneiro e, portanto, seu
primo; e Sebastiãozinho, encantado criança recebido por Luiza, frequentemente fazia
referências a Tio Duardo, quando comentava sobre as histórias entre eles.
Aprendizados, companhia, presentes e visitas marcam, portanto, a relação entre os
encantados de uma mesma família.
41 Relações de cuidado ainda marcam a relação entre um pai/mãe e seus filhos-de-santo,
pois é esperado que um mestre cuide de seus filhos, organizando suas correntes,
preparando-os para ficarem firmes quando receberem uma entidade, instruindo-os no
cumprimento de suas obrigações.11 Aqueles que não o fazem são vistos com reprovação
pelos demais chefes de tenda, que percebem transes violentos e a falta de controle dos
médiuns em relação ao seu corpo. Em certo sentido, o contrário também é válido:
filhos-de-santo são vistos como cuidando dos seus pais-de-santo na medida em que
cumprem bem suas obrigações e rezas, auxiliam na manutenção das atividades das
tendas, se responsabilizam por festejos e ajudam nas tarefas de limpeza do espaço físico
onde são feitas as giras de tambor.
42 A mediunidade significa, portanto, um aumento das relações sociais e mesmo da
família, ao incluir novas pessoas e também os encantados nas experiências pautadas
por princípios como o cuidado e a lembrança. Entretanto, “ter encantado” fala ainda
sobre rupturas, quebras de vínculo ou conflitos. Enquanto recebeu apoio da mãe, Café
viu seu pai se afastar em virtude das manifestações dos encantados, pois não
concordava com o trabalho com as entidades. Duardo Légua desconfiava do pai de Luiza
porque, por muitos anos, os membros de sua família não compreenderam ou
acreditaram nas manifestações dos encantados em sua vida, tratando-a com
represálias. Como na história de Luiza e Café, quando os terecozeiros contam sobre suas
trajetórias e informam sobre as primeiras manifestações das entidades, não é estranho
ouvir sobre parentes que se distanciaram porque não compreendiam, tinham receio ou
não aceitavam a “vida no santo”. Ou seja, enquanto existem, nessas narrativas, parentes
que acionam diversos espaços e serviços para tratar da mediunidade (levando as
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
162
pessoas a médicos, rezadores, pais e mães-de-santo), existem ainda aqueles que deixam
de investir nos laços familiares, pois se recusam a aceitar a presença das entidades.
Capacidades e agência
43 Como indicamos desde o início do texto, os encantados também se organizam em
famílias. As entidades constituem parentes de forma análoga às famílias dos seres
humanos, onde existe parentesco consanguíneo e por afinidade – quando, nos termos
locais, existe convivência, cuidado e “criação”. Ouvimos sobre isso em um encontro
entre Coli Maneiro, Ricardo Légua, Rei de Mina e Caboclo Cearense. Nesse dia, Ricardo
Légua nos disse:
“Eu, Ricardo Légua Ferreira da Trindade Boji Buá, sou sobrinho de Coli Maneiro
Ferreira da Trindade. Coli Maneiro é irmão de meu pai. Então é assim, nós é parente
como vocês aqui na terra do pecado, não tem parente de sangue? Pois eu mais Coli
Maneiro é parente de sangue. É assim, não é que eu respeito menos ele ou que ele
me respeita menos, é assim, ele é meu tio” [Ricardo Légua “em” Dona Regina,
agosto de 2011].
44 Segundo Ricardo Légua, há similaridades entre a forma como se organiza o parentesco
no “mundo do pecado” (entre as pessoas) e na encantaria, onde existem tanto os laços
de sangue como os de consideração. Nesse mesmo dia, ele ainda contou que Rei de
Mina, além de guia do salão localizado na Morada Nova (local do terreiro onde vinham
dançar naquele dia), era filho de Coli Maneiro (logo, sobrinho de Légua Boji) e foi com
ele que aprendeu a consumir bebida alcoólica. Caboclo Cearense, que também estava
presente, segundo Ricardo, “é meu tio, é primo de Coli Maneiro e de meu pai Légua Boji
Buá. Nós somos de uma descendência só, de uma família” [Ricardo Légua “em” Dona
Regina, agosto de 2011].
45 Ainda de forma análoga à noção de família perceptível entre nossos interlocutores em
Codó, podemos encontrar, também entre os encantados, filhos de criação ou filhos
adotivos. Em uma conversa, a encantada Lionesa Légua (“em cima” de Pedro) nos disse
que sua família tem 21 filhos de sangue e 375 filhos adotivos, sendo ela filha de sangue.
12
No entender de Dona Luizinha, em janeiro de 2016, a família de Légua é grande
porque Légua Boji acolhia muita gente. Segundo ela, quando o encantado via uma
entidade fraca, ele a pegava para cuidar e ela se tornava um Légua. A mãe-de-santo
acreditava que Seu Légua era uma pessoa de coração bom, justamente porque recebia
em sua família muitos encantados diferentes, fazendo com que se tornassem parentes.
46 Nas histórias que contamos, buscamos mostrar como os encantados podem agir na vida
das pessoas – ou seja, como os terecozeiros narravam a participação e os efeitos desses
seres em suas vidas, especialmente na forma como iam sendo, continuamente,
configuradas suas famílias. Se as famílias das pessoas não são definidas a priori, mas
diminuem-se e expandem-se na dinâmica da vida – podendo haver rompimentos ou a
inclusão de novos membros –, também a dos encantados não é imutável ou homogênea.
Por um lado, as entidades que a compõem apresentam traços em comum, mas também
diferenças. Quando os encantados da família de Légua chegam a uma tenda, é
costumeiro fazerem menção a algumas características que compartilham entre si, como
a relação com a mata, espaço (tangível e intangível) muito presente nas músicas e nas
suas histórias; a lida com animais, como os bois, com os quais esses encantados têm
relação constante, pois são tidos como valentes vaqueiros; o uso de chapéus que
remetem ao campo e às atividades a ele associadas (sendo os mais comuns os de veludo
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
163
ou couro); e o gosto pela bebida alcoólica. Podemos ver algumas dessas características
no ponto que nomeia esse artigo:
“A família de Légua está toda na eira
A família de Légua está toda na eira
Bebendo cachaça e quebrando barreira
Bebendo cachaça e fazendo poeira”
47 Ou ainda em pontos de apresentação que designam conjuntamente os encantados:
“Nos filhos de Légua não se toca nem com o dedo
Eu sou filho de Légua
Légua não é brinquedo”
48 Entretanto, os encantados de Légua apresentam diferenças entre si, como o
conhecimento da escrita ou outras habilidades, como a cura, o desejo por festas
(quando são chamados de “farristas”), o trabalho com conselhos ou benzimentos. Cada
encantado possui sua própria história – ou mesmo diversas histórias –, conhecida por
nós sempre parcialmente, por intermédio de conversas com ele em uma tenda, pelos
pontos cantados ou por sua manifestação em sonhos. Para falar sobre as versões
variadas que compõem as narrativas sobre um encantado, remetemos àquilo que, em
diferentes momentos do nosso campo, ouvimos sobre Légua Boji Buá (chamado ainda
de Seu Légua, Velho Légua ou Pai Légua). Seu Zé Preto, um pai-de-santo da cidade, nos
contou que Légua é filho de Pedro Angasso e é casado com Rosa Rainha, entidades
consideradas da nobreza.
49 Por sua vez, Supriano, encantado de Légua, recebido pelo pai-de-santo Café, nos disse
que Seu Légua era um soldado que lutava no exército de Rei Salomão, junto com Rei
Sebastião. Seu Légua e Rei Sebastião foram incumbidos de uma missão, na qual teriam
que matar todas as pessoas, inclusive as crianças. Por não aceitarem o desígnio, Rei
Salomão ordenou que fossem mortos. Légua Boji era Ogum Militar e Rei Sebastião era
Ogum Xorokê. Rei Sebastião foi amarrado e flechado em baixo de uma laranjeira, de
onde sumiu aparecendo na Ilha dos Lençóis (conhecido espaço de encantaria no
Maranhão). Légua Boji chegou a ser enterrado, mas certo dia, quando Rei Salomão
passou pelo seu túmulo, o encantado se manifestou por meio de uma grande chama de
fogo, momento em que escolheu Codó como espaço de referência para sua encantaria.
Segundo a narrativa de Supriano, o pai da família é Seu Légua e a mãe é Bárbara Soeira,
porque ela é a chefe da encantaria e a mãe de todos os encantados. Já em uma outra
versão da origem do patriarca dos Légua, Dona Chica Baiana, encantada da família de
Surrupira (Ferretti 2000), nos disse que Légua era um escravo que veio da África. Nessa
condição, sempre que podia, tentava fugir entrando na mata. Ele tinha muitos filhos,
inclusive adotivos, pois, segundo a encantada, se “caiu na encantaria e foi ‘pego’ por
ele, já é um Légua”.13
50 O fato de existirem várias versões de relatos sobre a origem de um encantado não é
exclusivo à história de Légua Boji Buá. Além disso, era comum ouvir, em campo, que
nem sempre é possível reconhecer um encantado ou prever como ele aparece, porque
os encantados “têm a capacidade de se apresentar de formas diferentes”. Essa
habilidade – que pode ser pensada como uma ontologia múltipla (Goldman 2015), ou
ainda como uma identidade não substancializada (Dos Anjos 2006) – é evidente em um
dos pontos de apresentação de Duardo Légua, que registrámos na casa de Dona
Luizinha:
“Na minha aldeia eu sou um índio
Na minha eira eu sou um caboclo
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
164
Na minha mesa eu sou doutor
Na minha gira eu sou caboclo girador
Mas o meu nome é Duardo Légua
Duardo Légua de Avanissê!”
51 Essa música chama atenção para as múltiplas possibilidades de apresentação de um
encantado, ao destacar as diferentes funções às quais ele pode estar relacionado em
cada uma das casas/das situações nas quais se faz presente. É por isso que duas pessoas
podem trabalhar com a mesma entidade, mas ela se comportar de forma diversa de
acordo com o brincante que a recebe. A agência das entidades na vida de uma pessoa – e
nas suas tramas familiares – depende, portanto, do espaço em que é recebida e das
negociações que realiza quando interage em cada contexto. Essa capacidade dos
encantados também evidencia o fato de que, embora possamos aproximar encantados e
pessoas no que tange a certas lógicas familiares, como o fizemos neste texto, é preciso
lembrar que existem distinções entre esses seres, especialmente em relação às
habilidades e potencialidades das entidades.
52 A capacidade de se apresentar de formas diferentes e a possibilidade de se aproximar e
participar de uma família se soma, ainda, a outro elemento que também indica a
riqueza das experiências entre encantados e pessoas. Como o terecô, sob diversas
formas, se relaciona com a umbanda e com o candomblé em Codó, o panteão de
entidades de uma casa pode ser bastante diverso. A coexistência de diferentes seres nas
trajetórias de religiosos remete a algo percebido também por Clara Flaksman, ao
afirmar sobre “o caráter agregador do candomblé”, que “engloba e acrescenta a seus
princípios as ideias mais adequadas às suas necessidades, que desse modo, se
incorporam a seu arsenal de recursos” (Flaksman 2016b: 19). 14
Considerações finais
53 Em Codó, entre as pessoas com as quais convivemos, conversas sérias, brincadeiras e
narrativas sobre percursos e biografias traziam interações entre pessoas e encantados
como elementos constituintes da vida. Nesse texto retomamos quatro dessas histórias
nas quais humanos e entidades se relacionam no âmbito familiar. Essas considerações –
sobre o nascimento de novos membros, heranças em momentos de morte, arranjos
matrimoniais, decisões sobre onde morar e como se portar – falam de um contexto
onde a noção de família é maleável ou flexível. Intentamos mostrar, nesse sentido, o
entendimento de que é possível fazer parentes e incluir novos membros na família, na
medida em que se compartilham formas de cuidado e companhia. Não compreender
esses princípios pode levar à diminuição da família, pois, enquanto coletivo, ela se
constitui pelas interações entre seus membros, ainda que à distância, com raros
encontros ou mesmo após a morte. Como dissemos, nas histórias em torno da
mediunidade, se expandiram as redes de relação. Entretanto, também ocorreram
rupturas e afastamentos, dado o fato de que as entidades convivem com médiuns, mas
também com seus familiares.
54 A partir das experiências de Luizinha, Pedro, Café, Zé Willan e Regina podemos
perceber efeitos e impactos da presença dos encantados, que, diversas vezes, imprimem
seus desígnios sobre as trajetórias das pessoas. Igualmente, como fica evidente na
relação entre Luiza e Duardo Légua, os encantados se transformam à medida que se
constrói sua relação com os brincantes. Talvez possamos dizer o mesmo para questões
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
165
relativas à família, pois incluir encantados em redes de parentesco é uma ação humana
sobre a encantaria.
55 Além de uma noção de família que se baseia tanto no sangue quanto nas formas de
convivência, as considerações apresentadas mostram, ainda, uma concepção de pessoa
percebida como uma rede de relações que inclui humanos e encantados. Quem é uma
pessoa e os caminhos que toma sua vida dependem não apenas de si, mas de entidades e
de heranças relacionais que a precedem. Também por isso as pessoas estão sempre
acompanhadas – em presença ou em pensamento – pelos seus familiares, suas entidades
e seus mortos. É importante ter com quem contar diante da “precisão” (das
dificuldades) e das imprecisões da vida, na medida em que se considera a importância
da companhia e do cuidado. As situações que contamos são como tramas nas quais seres
diversos têm suas histórias tecidas, cruzadas, constituídas em conjunto – ao ponto de
não ser possível separar os fios sem perder aquilo que formam.
Receção da versão original / Original version
2017 / 05 / 03
Receção da versão revista / Revised version
2018 / 09 / 16
Aceitação / Accepted 2019 / 01 / 29
BIBLIOGRAFIA
AHLERT, Martina, 2013, Cidade Relicário: Uma Etnografia sobre Terecô, “Precisão” e Encantaria em Codó
(MA). Brasília, Universidade de Brasília, tese de doutorado.
AHLERT, Martina, 2016, “Carregado em saia de encantado: transformação e pessoa no terecô de
Codó (Maranhão, Brasil)”, Etnográfica, 20 (2): 275-294, disponível em https://
journals.openedition.org/etnografica/4276 (última consulta em junho de 2019).
BARBOSA, Viviane de Oliveira, 2008, “Maridos da terra e maridos do fundo: gênero, imaginário e
sensibilidade no tambor de mina”, apresentado no X Simpósio da ABHR, disponível em http://
www.abhr.org.br/wp-content/uploads/2008/12/barbosa-viviane.pdf (última consulta em junho
de 2019).
BASTIDE, Roger, 2000, Le candomblé de Bahia (rite nagô). Paris, Plon.
BIRMAN, Patrícia, 2005, “Transas e transes: sexo e gênero nos cultos afro-brasileiros, um
sobrevoo”, Estudos Feministas, 13 (2): 403-414.
BOYER-ARAUJO, Véronique, 1993, Femmes et cultes de possession au Brésil: les compagnons invisibles.
Paris, L’Harmattan.
CAPONE, Stefania, 2009, A Busca da África no Candomblé: Tradição e Poder no Brasil. Rio de Janeiro,
Contracapa/Pallas.
CARDOSO, Vânia, 2007, “Narrar o mundo: estórias do ‘povo da rua’ e a narração do imprevisível”,
Mana, 13 (2): 317-345.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
166
CUNHA, Ana Stela de Almeida, 2013, “João da Mata family: Pajé dreams, chants and social life”,
em Ruy Blanes e Diana Espírito Santo (orgs.), The Social Life of Spirits. Chicago, The University of
Chicago Press, 123-158.
DOS ANJOS, José Carlos Gomes, 2006, No Território da Linha Cruzada: A Cosmopolítica Afro-Brasileira.
Porto Alegre, Editora da UFRGS/Fundação Cultural Palmares.
FERRETTI, Mundicarmo, 2000, Desceu na Guma: O Caboclo no Tambor de Mina em um Terreiro de São
Luís – a Casa Fanti-Ashanti. São Luís, Edufma.
FLAKSMAN, Clara, 2016a, “Relações e narrativas: o enredo no candomblé da Bahia”, Religião e
Sociedade, 36 (1): 13-33.
FLAKSMAN, Clara, 2016b, “ ‘De sangue’ e ‘de santo’: o parentesco no candomblé”, apresentado no
40.º Encontro Anual da ANPOCS, disponível em http://www.anpocs.com/index.php/encontros/
papers/40-encontro-anual-da-anpocs/st-10/st01-8/10132-de-sangue-e-de-santo-o-parentesco-
no-candomble/file (última consulta em junho de 2019).
FONSECA, Claudia, 1995, Caminhos da Adoção. São Paulo, Cortez.
GODOI, Emília Pietrafesa de, 2009, “Reciprocidade e circulação de crianças entre camponeses do
sertão”, em E. P. de Godoi, M. A. de Menezes e R. A. Marin (orgs.), Diversidade do Campesinato:
Expressões e Categorias – Estratégias de Reprodução Social. São Paulo, Editora da UNESP, 289-302.
GOLDMAN, Marcio, 1984, A Possessão e a Construção Ritual da Pessoa no Candomblé. Rio de Janeiro,
Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, tese de doutorado.
GOLDMAN, Marcio, 1987, “A construção ritual da pessoa: a possessão no Candomblé”, em C. E. M.
Moura (org.), Candomblé: Desvendando Identidades. São Paulo, EMW Editores, 87-119.
GOLDMAN, Marcio, 2012, “O dom e a iniciação revisitados: o dado e o feito em religiões de matriz
africana no Brasil”, Mana, 18 (2): 269-288.
GOLDMAN, Marcio, 2015, “ ‘Quinhentos anos de contato’: por uma teoria etnográfica de
(contra)mestiçagem”, Mana, 21 (3): 641-659, disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0104-93132015000300641 (última consulta em junho de 2019).
LÉVY-BRUHL, Lucien, 2008 [1922], A Mentalidade Primitiva. São Paulo, Paulus.
MAUSS, Marcel, 2003 [1923], Sociologia e Antropologia. São Paulo, Cosac Naify.
OLIVEIRA, Jorge Itaci de, 1989, Orixás e Voduns nos Terreiros de Mina. São Luís, VCR Produções e
Publicidades.
PINA-CABRAL, João de, e Vanda Aparecida da SILVA, 2013, Gente Livre: Consideração e Pessoa no
Baixo Sul da Bahia. São Paulo, Terceiro Nome.
PRANDI, José Reginaldo, e Patrícia Ricardo de SOUZA, 2004, “Encantaria de mina em São Paulo”,
em J. R. Prandi (org.), Encantaria Brasileira: O Livro dos Mestres, Caboclos e Encantados. Rio de Janeiro,
Editora Pallas, 216-280.
RABELO, Miriam, 2008, “Entre a casa e a roça: trajetórias de socialização no candomblé de
habitantes de bairros populares de Salvador”, Religião e Sociedade, 28 (1): 176-205.
RABELO, Miriam, 2014, Enredos, Feituras e Cuidados: Dimensões da Vida e da Convivência no Candomblé.
Salvador, EdUFBA.
SAHLINS, Marshall, 2013, What Kinship Is… and Is Not. Chicago, The University of Chicago Press.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
167
SANSI, Roger, 2009, “Dom e iniciação nas religiões afro-brasileiras”, Análise Social, 44 (190):
139-160.
SERRA, Ordep José Trindade, 1978, Na Trilha das Crianças: Os Erês num Terreiro Angola. Brasília,
Universidade de Brasília, dissertação de mestrado.
NOTAS
1. Martina começou sua pesquisa sobre as relações entre pessoas e encantados em 2010, ainda no
âmbito de seu doutorado em Antropologia Social na Universidade de Brasília (Ahlert 2013). Em
2014 tornou-se professora da Universidade Federal do Maranhão e teve a oportunidade de
acompanhar Conceição, que, desde 2015, com auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão (Fapema) e posteriormente da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pesquisa o terecô em
Codó.
2. Estima-se que existam cerca de 250 tendas (chamadas ainda de terreiros ou salões) de religiões
afro-brasileiras em Codó, além de quartos e mesinhas (pequenos altares) dedicados às entidades.
Os dados são da Secretaria Municipal de Cultura e Igualdade Racial.
3. A possibilidade de uma riqueza classificatória na relação entre as diferentes modalidades de
religiões afro-brasileiras foi notada por diversos pesquisadores. Stefania Capone, por exemplo,
afirma que “Os complexos arranjos da ortodoxia do candomblé na prática ritual indicam que os
cultos afro-brasileiros não são nem construções religiosas cristalizadas e imóveis, nem entidades
que se excluem mutuamente” (Capone 2009: 28).
4. Mundicarmo Ferretti (2000) sugere que uma das maneiras de compreender os encantados e
suas associações é por intermédio da noção de família, pois as entidades possuem relações de
parentesco entre si. Prandi e Souza (2004) reforçam a distinção entre famílias no tambor de mina,
religião que predomina na capital do Maranhão.
5. Há uma complexidade na discussão sobre as formas de iniciação e confirmação “do santo” no
candomblé com a qual não dialogamos no texto. Sugerimos, para aprofundar a leitura sobre a
necessidade de repensar a oposição entre o dado e o feito, a iniciação e o dom, a leitura do texto
de Marcio Goldman (2012).
6. A autora ainda afirma: “Creio, entretanto, que as relações referidas como ‘enredo’ podem se
dar de inúmeras maneiras e em diferentes instâncias. […] No caso dos humanos, pode referir-se
tanto a relações espalhadas no tempo (envolvendo ancestrais longínquos, por exemplo), quanto
às relações cotidianas. Da mesma forma, as relações entre humanos e orixás se dão tanto no plano
geral (entre uma pessoa e um determinado orixá), quanto no plano individual (entre uma pessoa
e um orixá individual, seu próprio ou de outrem)” (Flaksman 2016a: 21-22).
7. Forma de denominar pessoas que incorporam entidades.
8. Como afirma a autora a partir de relatos de mulheres em outros trabalhos etnográficos:
“A mediunidade, do ponto de vista dessas mulheres, supõe então uma relativa autonomia dessa
agência, a entidade incorporada. E as narrativas insistem no quanto é difícil para os indivíduos a
gestão dessa autonomia no espaço de circulação do médium” (Birman 2005: 411).
9. Tal como aconteceu com Pedro, na literatura sobre religiões afro-brasileiras existem menções
a “santos herdados”, ou seja, entidades que passam entre membros de uma mesma família ou
entre amigos próximos em contextos de pós-morte, e que são consideradas “já feitas”. Como
afirma Goldman para o candomblé angola, “ ‘santos de herança’ [são] divindades já ‘prontas’ ou já
‘feitas’ que são transmitidas a um descendente, ou mesmo a pessoas apenas próximas, após o
falecimento do transmissor” (Goldman 2012: 275). Serra (1978) e Flaksman (2016b) comentam
sobre formas adivinhatórias, como o jogo de búzios, sendo realizadas para inquirir sobre o
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
168
herdeiro de determinada entidade. No terecô – onde comumente não se joga búzios –, as
entidades costumam se manifestar dizendo seu destino antes da morte, ou ainda incorporando,
após o falecimento, na pessoa escolhida.
10. Em outros contextos de pesquisa sobre a encantaria maranhense, é possível encontrar
casamentos ou família entre pessoas e encantados (Cunha 2013, Barbosa 2008). Em Codó não
ouvimos histórias semelhantes, mas soubemos de situações nas quais os encantados e encantadas
são transformados em padrinhos e madrinhas, podendo, inclusive, participar (incorporados) de
batizados na Igreja Católica.
11. Organizar as correntes de um filho-de-santo inclui conversar com seus encantados, saber
quais suas funções e as especialidades que possuem, e o que esperam do filho-de-santo.
Provavelmente, a expressão engloba várias outras atividades que não pudemos conhecer ainda.
12. A criação de filhos não biológicos e a circulação de crianças (Fonseca 1995) é recorrente em
Codó, e pode se dar entre membros da família (consanguínea ou afim) ou ainda entre pessoas
conhecidas, mas sem laços de parentesco. A prática é tradicional e perpassa diferentes gerações,
ganhando importância em virtude dos casos de migração para outros estados do Brasil. Nesses
casos, normalmente o adulto que migrava não levava seus filhos, os deixando em Codó, para
serem criados por familiares ou por conhecidos (para discussão sobre o tema, ver Godoi 2009;
Fonseca 1995).
13. A história de Légua como negro escravo corrobora algumas versões encontradas em outras
obras nas quais a família desse encantado é mencionada. Nas pesquisas de Mundicarmo Ferretti
(2000), no município de São Luís e em Codó, no estado do Maranhão, Légua aparece como velho
angolano (na fala de uma mãe-de-santo chamada Dona Antoninha); surge ainda, de acordo com as
observações de Oliveira, em São Luís, narrado pelo pai-de-santo Jorge Itaci como “a fusão de duas
entidades Dahomeanas – Bará (Exu) ou Légba e o vodum Poliboji (que adora Santo Antônio) –
junção esta refletida em seu nome, Légua (Légba) Boji (Poliboji)” (Oliveira 1989: 37 apud Ferretti
2000: 140). Pai Euclides, pai de santo da capital maranhense, em conversa com Mundicarmo
Ferretti, afirmou que Légua Boji “era africano e já era conhecido no Caribe muitos anos antes de
surgir em terreiros maranhenses” (2000: 145). Antes de chegar no Brasil, Légua teria, de acordo
com essa versão, passado por Trinidad e, ao aportar por aqui, teria ficado conhecido como Légua
Boji Buá da Trindade, em referência ao lugar de onde veio. Segundo uma filha de pai Euclides,
“Légua Boji já entra em Codó velho e com vários filhos”, neste lugar encontra Pedro Angasso que
lhe adota como filho. Neste mesmo trabalho Mundicarmo Ferretti também apresenta falas e
narrativas sobre aparições de Seu Légua na cidade de Viana (também no Maranhão) onde “é visto
pelos médiuns (que têm vidência) como um preto velho angolano que usa chapéu, parecido com o
do falecido artista nordestino Luiz Gonzaga. Légua também aparece para eles como um boi preto
[…]” (Ferretti 2000: 160).
14. Sansi pontua a importância de não perceber a diversidade dos espíritos como
“degenerescência da religião africana” (Sansi 2009: 148-149).
RESUMOS
O terecô é uma religião afro-brasileira encontrada no interior do estado do Maranhão, no
Nordeste brasileiro. Nela, as pessoas convivem com encantados – seres recebidos em rituais, mas
também presentes em momentos ordinários. Os encantados se fazem presentes na incorporação,
em sensações físicas ou em objetos que lhes pertencem. Esse conjunto heterogêneo de seres se
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
169
organiza em famílias, que são formadas por parentesco consanguíneo e também “por
consideração”. Aqui, na Terra, eles se relacionam com pessoas possuidoras de “mediunidade” e
com aqueles que as rodeiam. Neste texto, procuramos pensar as relações entre pessoas e
encantados a partir de histórias onde esses seres se cruzam em tramas de parentesco – que
envolvem partos realizados por entidades, casamentos por elas previstos e anunciados, conexões
geracionais e heranças em momentos de morte. Trabalhamos, especialmente, com a família de
um encantado chamado Légua Boji Buá, quando procuramos chamar atenção para os princípios
que regem as relações entre os encantados, a agência e a multiplicidade de formas a partir das
quais eles se apresentam às pessoas.
Terecô is an Afro-Brazilian religion found inland in Maranhão state, in the Northeast of Brazil. In
this religious context, people coexist with enchanted beings who are received in rituals, through
incorporation, but are also present in ordinary moments as physical sensations or through their
belongings. This heterogeneous set of beings is organized in families, which are formed by blood
ties and also by “respect”. Here on Earth they bond with people with “mediumistic” powers and
with those around them. The article is focused in the relationships between people and
enchanted beings, using as reference stories where those beings have a role in kinship affairs.
Such stories involve births performed by those entities, weddings planned and announced by
them, generational connections and inheritance following death. We work especially with the
family of an enchanted being called Légua Boji Buá, seeking to draw attention to the principles
governing the relations among those entities, their agency and the variety of forms by which
they present themselves to people.
ÍNDICE
Keywords: relationship, enchanted entities, family, agency
Palavras-chave: relações, encantados, família, agência
AUTORES
MARTINA AHLERT
Departamento de Sociologia e Antropologia, Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais,
Universidade Federal do Maranhão, Brasil
ahlertmartina@gmail.com
CONCEIÇÃO DE MARIA TEIXEIRA LIMA
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Maranhão, Brasil
cittalima@yahoo.com.br
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
170
Variações sobre “livusias”:
coincidência entre a terra e os (fins
de) mundos contidos numa ilha no
rio São Francisco, Brasil
Variations on “livusias”: the coincidence of land and the (ends of) worlds
contained in an island in the São Francisco River, Brazil
Márcia Nóbrega
1 No trajeto entre sua casa e a “casa de caboclos”, situada na outra ponta da Ilha do
Massangano, Dona Amélia, hoje com 82 anos, segurou forte a minha mão com a
desculpa de que eu a ajudasse a desviar de eventuais percalços que atravessassem nosso
caminho.1 Embora suas vistas “cheias de cinzas” ou “anuviadas”, conforme gosta de
dizer, lhe dificultassem enxergar os paus e as pedras que vez ou outra traíam seus pés
em topadas, Dona Amélia conhecia tão bem o percurso que era capaz de antecipar, com
alguma precisão, onde estaria a pedra que a faria tombar ao chão. Também não era raro
que vez ou outra me puxasse de canto para desviarmos de lugares onde, para mim,
parecia não haver coisa alguma – a não ser o próprio caminho. Contra a minha
insistência em seguir em frente, ela me dizia: “Não é porque eu não vejo a pedra que
está ali que se eu tropeçar nela não vou cair. Bem assim é com os espíritos, eles estão
por aí, a gente é que não vê”. Com “o sentido” na caminhada, Dona Amélia não se
poupava em adicionar à conta do cálculo do percurso de nossa caminhada a
necessidade de certos desvios: contornávamos certas encruzilhadas, cruzeiros, e
passávamos ao largo de alguns trechos de rio. Com o tempo, não foi difícil perceber que
não desviávamos apenas de paus e de pedras, mas também de outros seres que, embora
nem sempre possam ser vistos, estão “por aí” habitando certos lugares – especialmente
aqueles que carregam, no dizer, “livusias”.2
2 A Ilha do Massangano está situada entre as cidades de Petrolina, no estado de
Pernambuco, e de Juazeiro, no estado da Bahia. Ali, segundo as agentes de saúde locais
estimaram, no ano de 2015 viviam cerca de 600 pessoas que, se for “puxando pra trás”,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
171
conformam “um povo só”, o “povo de Iaiá Celestina” – esta antepassada comum de
quem derivam (ao mesmo tempo em que também é composta por) uma miríade de
outros povos que, como eles, beiram aquelas margens de rio. É ao equacionamento da
relação entre os lugares enquanto caminhos e aqueles que os percorrem que este artigo
se dedica. Aqui importa menos nos debruçarmos sobre a ideia de “povo”, já explorada
em outra ocasião (Nóbrega 2017a), do que sobre a de povoamento, cujo equacionamento
nos permite acessar a coincidência numa mesma “terra” de entes que habitam
“mundos” outros, a saber, o mundo das “almas” e o dos “caboclos”, sendo a distinção
entre um e outro marcada pela qualidade da vida que os povoa: enquanto as “almas”
são apresentadas como algo que já foi vivo e que morreu, desprendendo-se de seu corpo
físico, os “caboclos” não são tidos exatamente como mortos, porque a vida nunca lhes
foi um necessário ponto de partida. Seguindo a proposta que Vânia Cardoso (2004) fez
em sua etnografia sobre o “povo da rua” na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro,
também tomarei tais entidades da Ilha do Massangano como “guias” – outro termo
nativo que na ilha designa um tipo de “caboclo” – que nos ajudarão a evitar o desvio e
seguir os percursos por eles traçados.
3 “Livusias” são os rastros deixados na terra por estes entes de outros mundos. Tal como
aparece no Dicionário Aurélio, o termo “livusia” seria uma corruptela da palavra
“aleivosia”, que se refere a tudo aquilo que for falso: “s. f. 1. Traição, perfídia,
deslealdade. 2. Dolo, fraude. 3. Falsa acusação; calúnia. [sin. ger.: aleive.]”. 3 No entanto,
na Ilha do Massangano, “livusia” designa algo que tem um sentido inverso ao da
mentira. Justamente, passar por um lugar que tem “livusia” é correr o risco de deparar-
se, na terra, com os efeitos da presença de entes de outros mundos: seja uma casa
pegando fogo, um gato crescendo à altura de um poste, uma corrente de ouro que se
arrasta, uma lapada que lhes enverga as costas, ou uma surra que, mesmo não se
sabendo de onde veio, não deixa de doer no corpo. A “livusia” é, antes, um atestado de
existência.
4 Ao falar da vida dos espíritos na Ilha do Massangano, tento me aproximar daquilo que
Jeanne Favret-Saada (1990) fez quando falou sobre a feitiçaria no Bocage francês, na
medida em que a intensão não é explicar os fenômenos espirituais, mas tentar
compreender os processos através dos quais os espíritos se fazem existentes e
produzem seus efeitos. Assim, é seguindo os efeitos na Terra desses outros mundos, ou
seja, desses lugares de “livusia”, que procuro mostrar como os domínios do social e do
material são muitas vezes tidos como “um só”.
5 O que põe “gente”, “almas”, “caboclos” e também a própria “terra” em relação, para
ficarmos com os modos de dizer da ilha, é o fato de que caminham juntos. Esses
caminhos conduzirão o presente texto em duas direções: a primeira trata da
proeminência ontológica do movimento em relação à paragem – esta sim, o extremo
derradeiro do mundo; a segunda, uma espécie de desdobramento da primeira, mas não
menos importante, trata do fato de que inclusive a terra, ali, também “anda”. Certa vez,
Conceição, uma outra amiga de lá, me disse ao contemplarmos juntas o rio: “repare
como encaixa direitinho uma na outra”. Apontava-me o desenho das margens ao nosso
redor. Em outro momento, Pedro, seu vizinho e parente, dizia não achar outra
explicação do porquê da abundância de tantos “pés de paus” submersos entre a Ilha do
Massangano e sua ilha vizinha, de nome Rodeadouro: “Quem ia botar aquilo ali? Toda a
vida esteve”. Para Conceição e Pedro, o desenho das beiras e a presença de paus no
entre-ilhas, cuja saliência se revelava a cada dia pelo decrescente volume de águas do
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
172
rio, atestava que a Ilha do Massangano, a sua ilha vizinha e a porção continental da
“banda do Pernambuco” já teriam um dia formado “uma terra só”. Para eles, a terra, ao
menos potencialmente, “anda” – sendo, para usarmos um termo que Bruno Latour
(2012) formalizou em sua teoria do ator-rede, uma actante, ou, ainda, uma
“terr(-)ente”, outro termo que vem ganhando força nos estudos sobre povos cuja
equivocidade da palavra “terra” põe em xeque os sentidos de “território”, muitas vezes
imputados a eles desde fora (cf. T/terra 2017).4 De toda forma, para quem vive na ilha, o
estranho não é bem que a terra caminhe, mas que, ao contrário, ela fique parada.
6 O movimento de “caminhar com a gente” ou ser “mais nós” é condição de produção de
conhecimento na Ilha do Massangano. É caminhando juntos que se fazem “um só” e que
se fazem “inteligentes” nas ciências dali – o que não é a mesma coisa que ser “sabido”.
Para eles, o sabido é o “só um”, aquele que chega sozinho e que, de repente, diz saber.
Isso porque o conhecimento só pode prosseguir numa narrativa acompanhada,
produzindo-se a partir de um ordenamento sucessivo de nomes e lugares. Podemos
dizer, para usarmos uma imagem do pensamento de Tim Ingold (2015), que o
conhecimento na Ilha do Massangano é em grande medida “topográfico”. Mas dizer
isso, no nosso caso, não basta. A ênfase evidenciada pelos meus amigos da ilha ao
caminharmos juntos não estava tanto nos pontos que colocavam em ordem nossos
caminhos, mas naquilo que se deslocava entre um ponto e outro. Isto é, interessava-
lhes, sobretudo, escolher em que companhia desejavam estar.
7 No limite, na Ilha do Massangano nunca se está sozinho e tampouco a solidão é um
estado desejado. Isso, em grande parte, deve-se ao fato de que a ilha nunca esteve
desabitada. Bem antes de as senhoras que me contavam essa história se “entenderem
por gente”, outros povos e povoações já caminhavam por ali. Chica, uma outra amiga,
de cerca de 60 anos, contava que, ao cultivarem cebola em uma terra de lá, sua mãe e
demais presentes surpreenderam-se ao depararem com uma porção de crânios
enterrados. Enterrar gente assim, em qualquer lugar, só podia ser coisa de índio,
concluíram. Ao trazer esse “causo” a título de prova, Chica me contava da presença de
“índios brabos” – e, depois também, de “negros fugidos” – como causa de tantas
“livusias” na ilha. Mesmo que nem sempre os possamos ver – como Dona Amélia bem
nos ensinou no caso que abre esse artigo, ao rebater com precisão meu empirismo
ingênuo –, eles existem e estão no “por aí” caminhando “mais eles”, numa mesma terra,
mas em distintos mundos, o “das almas” e “dos caboclos”.
8 O conceito de “livusia” fala, pois, sobre a coincidência de um mundo em outro numa
mesma terra, esta que “anda”, mas que também “carrega”. Trata-se de um conceito que
aponta para um certo modo específico de estar e agir num mundo, incluindo-se entre
estes agentes a própria terra. Em sentido semelhante, Cecília Mello (2017) propõe uma
espécie de “quarto plano”, que deriva como uma espécie de bifurcação (ou de um desvio
englobante, para usarmos uma imagem conceitual mais próxima aos termos da ilha) das
três ecosofias propostas por Felix Guattari (1990), ao pensar as diversas agências
atuantes no Movimento Cultural Afroindígena na cidade de Caravelas, no estado da
Bahia:
“A ecosofia não seria uma doutrina ou uma proposta de ação pré-constituída, mas
um exercício de articular num ‘novo paradigma estético’ dimensões da experiência
que se encontram desarticuladas nas análises e ações e que caberia, portanto,
reconectar: os planos da produção de subjetividade (ecologia mental), o plano das
formações sociais (ecologia social) e o plano das visibilidades (ecologia ambiental)
[…]” (Mello 2017: 33).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
173
9 No entanto, considero que o termo nomeado pela autora por “plano de invisibilidade”
como uma alternativa que dê conta dessa “bifurcação ou quarto plano” da proposta
guattariana – aquele que diz respeito às agências não humanas – é insuficiente para
alcançar aquilo que na ilha aponta para o que a partir de agora eu chamarei de “plano
de livusia”. Considero este termo vantajoso para pensar porque ele recusa o sentido de
“intangível” que o termo “invisível” pode sugerir. Como vimos, o “plano de livusia” só
se mostra porque tem consistência – alcançada sobretudo através da pragmática dos
efeitos na terra do mundo dos espíritos. A “livusia” tem o poder de tomar o aparente
paradoxo da tangibilidade a seu favor: ao modo do que Diana Espírito Santo e Ruy
Blanes (2013) escreveram na introdução da coletânea The Social Life of the Spirits, 5
também na Ilha do Massangano só é possível acessar a agência dos ditos “intangíveis” a
partir, justamente, de sua tangibilidade. Isso porque o “plano de livusia” se coloca de
modo transversal às demais ecosofias descritas por Guattari: ele é ao mesmo tempo
“mental”, “social” e “ambiental”, assim como sugere o quarto plano proposto por
Cecília Mello.
10 E para fazer evidente esta dimensão colocada pelo “plano de livusia”, trago à análise a
controvérsia gerada pela iminente “morte do rio” que espreita a terra dos habitantes da
Ilha do Massangano. Diz-se por lá que, da mesma forma que tudo o que é vivo caminha,
o que está parado está morto. O represamento das águas e a consequente contenção das
correntezas de todo o curso do rio São Francisco, dada a partir da construção do
complexo de barragens pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF),
concluída no final da década de 1970 – em especial, para o caso da ilha, da barragem de
Sobradinho, que está situada a cerca de 40 quilômetros a montante –, fazem-nos
deparar com uma terra que já não mais caminha, mas que cresce (pra cima e para os
lados); com uma água que já quase não corre e que, portanto, não mais “carrega” (ao
menos não como antes), seja, por um lado, terra e sedimentos, seja, por outro, peixes e
demais entes de outros mundos.6 Em poucas palavras, o que desejo alcançar nesse
artigo, ao seguir os habitantes da ilha em seu “plano de livusia”, é o que “faz fazer” (ou
não pode mais “fazer fazer”) os distintos mundos e suas povoações, quando a terra
onde coincidem já não mais se movimenta com eles e para eles. Nesse sentido, seguindo
o rastro deixado no “plano de livusia”, procurarei acessar a coincidência – bem como os
afastamentos – entre as noções particulares de mundo e de terra contidas na Ilha do
Massangano. Este será o assunto da próxima secção do texto.
Os mundos como vários, a terra como “uma só”
11 Dora, filha do irmão mais velho de Dona Amélia que há tempos mora fora, “na rua”, em
Juazeiro, ao me contar de sua saudade do tempo que viveu na ilha, me deu a mais bela
definição do que seja viver ali, “onde se morre afogada na areia”. O aparente paradoxo
na fala de Dora é revelador da mecânica das movimentações dos caminhos e, portanto,
do que gera a vida na ilha. Ela me falava da relação entre água e terra. Para os
habitantes da ilha, há uma forte distinção entre os que vivem “no meio do rio” e
aqueles que vivem em “terra firme”. Sem desconsiderar que a afirmação de tal
distinção comenta a assimetria de prestígio entre um lugar e outro – cuja balança
pende em direção à terra firme –, trata-se, sobretudo, de um comentário sobre a
substância da terra, do que ela é feita. Quando em contato com a água e a força de sua
correnteza, a terra da Ilha do Massangano forma-se inconstante e imprecisa. Por isso,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
174
para que a água não “comesse” todo o perímetro de suas terras, os “antigos”
costumavam dispor de tecnologias para mantê-las largas: cabia a eles plantar nas beiras
para que tais plantas pudessem agarrar aquilo que a corrente transportava. Assim,
transformaram o que era pedra no que hoje é terra. Sempre souberam que, dependendo
da vazão do rio, de seu avanço ou recuo, pode-se ter mais ou menos terra. Porque a
terra se expande ou se encolhe sempre pelas beiradas.
12 O tom melancólico do comentário de Dora referia-se ao pouco movimento das águas ao
redor. O rio, que no “tempo de primeiro” já fez a Ilha do Massangano e sua vizinha, a do
Rodeadouro, serem “uma só” – designadas ambas pelo nome de Rodeadouro, em função
da forte correnteza que estava ao seu redor –, hoje mingua sem correnteza. “É só croa e
pedra”, é o que costumam dizer quando olham para um rio que já não é mais (como
antes). De certa forma, o dizer atualiza o que nossa amiga Dora, ao modo de uma
profetisa, anunciava. A “croa”, um outro nome que dão às porções de terra cuja
saliência se nota sobre as águas dos rios, já não mais se movimenta de um lugar a outro
– agora ela cresce para cima, se espalha no leito do rio, afogando-os na areia. Não
apenas para prover energia elétrica para a região, mas para, sobretudo, garantir que
empresas de agronegócio de fruticultura por irrigação (por eles chamadas de “firmas”)
fossem viabilizadas ali, a CHESF construiu um complexo de barragens ao longo do rio
São Francisco para controlar seu regime de vazantes. Confinado entre duas barragens –
a de Sobradinho e a de Itaparica – e sem vazão de água considerável que o movimente, o
trecho de rio que abarca a ilha mingua sem correnteza. De seu lado, sob o risco de
verem suas plantações inundadas de um dia para o outro ao sabor da decisão dos
técnicos das barragens de liberarem mais ou menos água, aqueles que vivem nas beiras
do rio deixaram de plantar nas margens, tornando-as um imenso areal. Sem margens
que sustentem a terra e sem correnteza que a carregue, o rio, no dizer, deixa de ter
“beira”; a terra assoreada se acumula no leito do rio diminuindo sua profundidade,
dando a impressão de que o rio esteja cheio quando, na verdade, ele está raso. 7
13 Se é verdade que, com menos água e com menos força, a terra onde se vive se
movimenta menos, podemos dizer o mesmo sobre as movimentações dos mundos – este
ou aquele, onde vivem gente e espíritos? Para responder a essa questão, retomo a
narrativa de minha amiga Dora, quando nos contava das saudades que tinha do tempo
em que vivia na ilha. Dora lamentava tanto estar fora da “terra” quanto distante do
“mundo” onde fora criada. Ainda que a terra ali fosse traiçoeira, foi ela que lhe
apresentou o “mundo” tal como o conheceu. O mundo na ilha, como também sua terra,
deu a Dora uma certa vida. De modo geral, penso que quando os habitantes da Ilha do
Massangano falam de “mundo”, estão fazendo antes uma afirmação sobre a vida: onde
se vive, como se vive e como se caminha.
14 A vida, tal como a percebi na Ilha do Massangano, não se opõe necessariamente à
morte. Não é raro, por exemplo, um espírito vir “em vida” no intuito de dar algum
recado. Peba, uma amiga da ilha, me contava como seu pai lhe fez o pedido para que
nunca deixasse de cumprir a obrigação que ele fez com Cosme e Damião. 8 Peba
enfatizava que o pai veio “em vida” porque ele “caminhava”, “assim mesmo como nós,
andando, Márcia! Como gente viva mesmo”. A ênfase de Peba na vida do espírito de seu
pai referia-se à autonomia com que ele podia caminhar (independentemente das pernas
de médiuns) 9 e ser visto neste mesmo mundo onde vivemos – aqui na terra. De todo
modo, a impressão que se tem é que o exercício de qualificação de determinado ser
num estado ou noutro (vivo ou morto) é relativo ao plano de existência a que
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
175
determinado ser pertence – isto é, no limite, sempre se é vivo no mundo onde se vive.
Sempre lhes parecia bastante óbvio o que para mim não era: que os espíritos, desde seu
respectivo mundo, são vivos para si próprios.
15 Ainda que, como procurei demonstrar, a “terra” possa ser “uma só”, o mundo é sempre
apresentado como vários: “os mundos”. Enquanto, para eles, a terra nunca parece
acabar porque está sempre andando, o “mundo”, ao contrário, é apresentado como algo
que aparece sempre marcado por uma descontinuidade que sinaliza um fim. Falar em
mundo é falar sobre o “lá naquele fim de mundo” das lonjuras do sem-fim; a temida
vastidão do desconhecido “mundão de meu deus” que alguns parentes enfrentam
quando vão viver em São Paulo; o perigo do “fim do mundo” antecipado nas profecias
dos antigos padres que afirmavam que “o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão”
– escatologia eternizada pelo famoso romance Os Sertões, de Euclides da Cunha (2016
[1902]), passado a poucos quilômetros dali.10
16 De toda forma, na Ilha do Massangano, a incidência numa mesma terra de distintos
mundos se apresenta sempre como “ao lado”. Por exemplo, não se “incorpora” ou se é
“possuído” por um caboclo, mas se “pega” ou se “baixa” um caboclo que já está ali. Para
eles, os espíritos (sejam “almas” ou “caboclos”) de fato existem no “lá fora”, “por aí”.
Tim Ingold (2015), em seu livro Estar Vivo, aborda alguns desses conceitos que se
aproximam (mas também se afastam) daqueles que são correntes na Ilha do
Massangano. Por exemplo, estar “por aí”, do ponto de vista de Ingold, seria algo como
estar “na malha”, no movimento do caminhar entre um ponto e outro, “estar em todos
os lugares” (Ingold 2015: 220). “Por aí” não coincide, portanto, com a ideia de “espaço”
descrita pelo autor, já que este se define por ser “nada” e, sendo nada, “não pode
absolutamente ser realmente habitado” (2015: 215). No entanto, ainda que meus amigos
da ilha concordem que o espaço seja “nada”, provavelmente diriam que até mesmo o
nada pode virtualmente ser habitado. Isso porque, para eles, a existência é anterior ao
dado. Seja no “espaço” ou no “por aí”, a dúvida não é se os espíritos estão a seu lado,
mas sobre qual espírito lhes faz companhia. Isto é, ainda que não apareçam “em vida”,
sabem que toda a existência é primeira e se confirma, a posteriori, através dos efeitos
deixados – “ao lado” – pelos espíritos, tanto sobre a terra quanto nos corpos daqueles
que vivem sobre ela.
17 Caminhar ao lado, no entanto, não implica dizer que a relação entre caboclo e médiuns,
por exemplo, seja uma relação simétrica entre pares. Ainda que seja típico dos caboclos
saberem dos passos de seus médiuns, quase nada se sabe sobre a vida dos caboclos – a
não ser aquilo que for do desejo deles nos contar.11 À minha indagação sobre “onde
vivem” ou “onde estão” os espíritos, meus amigos da ilha respondiam quase sempre
com uma gargalhada acompanhada por um “e eu sei?”. Diante da minha insistência,
prosseguiam respondendo ora que estão “por aí”, ora que estão “no espaço” – o que não
implica dizer que um e outro sejam a mesma coisa. Enquanto o “por aí” refere-se ao
todo-lugar, isto é, a presença relativa e virtual em qualquer lugar; estar no “espaço” é
estar no lugar-nenhum, na imprecisão absoluta do caos do que seja, como certa vez
ironizou uma amiga diante de minha insistente pergunta, o “espaço sideral”.
18 O “plano de livusia” faz falar uma cosmologia que não pode se separar de sua geografia.
O conhecimento topográfico da mecânica terra-água de que os habitantes da ilha
dispõem faz deles também excelentes geômetras da relação entre mundos. Há sempre
um mundo “ao lado” de outro, um “fim” que nunca é derradeiro porque sempre supõe
outro. A imagem de mundos postos “ao lado” não implica dizer que sejam paralelos. Ao
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
176
contrário, tal laterização projeta sobre a terra a disposição de mundos à imagem de um
poliedro infinito, cujos lados sempre podem se dobrar um sobre outro. Essa versão
apresentada pelos meus amigos da ilha coincide com a “geografia celestial” tal como
descrita por Edgar Barbosa Neto (2012) em sua etnografia de três casas de religião de
matriz africana da cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Segundo o autor,
naquele contexto etnográfico “o mundo em que habitam os orixás, os exus, e os eguns,
o mundo dos outros de modo geral, não é apresentado como descontínuo àquele em que
se vive” (Neto 2012: 150). A “máquina de mundo”, para usarmos uma imagem do autor,
que faz a passagem de lados em um “mundo repleto de lados simultâneos e
heterogêneos”12 (2012: 11), na Ilha do Massangano é operada, sobretudo, por sua noção
de “terra” e pela respetiva ação.
19 Dizer que a laterização disposta pelo “plano de livusia” da ilha propõe uma noção de
mundo desprovida de centro – ou, se houver, ele será sempre contingente ao mundo
onde se vive –, não implica afirmar que, ao modo de um revés, ela supõe um centro
geodésico de acontecimentos. Tampouco tenho condições de afirmar que o que
acontece aos mundos da ilha é o mesmo que acontece no universo ameríndio, tal como
proposto pelo famoso conceito de perspectivismo formalizado por Tânia Stolze Lima
(1996) e Eduardo Viveiros de Castro (2002).13 Não é do conhecimento nem do interesse
dos meus amigos o modo como as almas ou os caboclos nos veem ou se veem entre si.
Para eles, ainda que os mundos sejam vários, interessa dizer que a “terra” é “uma só”,
mas não porque ela seja “só uma”. Enquanto ser “só uma” poderia configurar a terra
como uma espécie de materialização de um fundo ontológico comum – o que não me
parece se aplicar ao caso deles –, ser “uma só” fala, sobretudo, da agência da terra ao
puxar para si o encontro de mundos diversos que a atravessam.
20 Na intenção de focar o encontro desses mundos, percorrerei dois “lugares de livusia”
colocando atenção em, por um lado, como certas “encruzilhadas” atuam como um
cruzamento não apenas de “becos”, mas também de “mundos”, e, por outro, em como
tais mundos são puxados para a terra pela força das “correntezas” das águas.
Entre a encruzilhada e a correnteza
21 Para aqueles cuja vida se passa “no meio das águas”, habitar a caatinga é estar “longe
demais”. Único bioma exclusivamente brasileiro, a caatinga, apesar de seu baixíssimo
índice pluviométrico aliado ao alto índice de evaporação, é a região de clima semiárido
com maior contingente populacional do mundo. Ainda que situados nesse bioma, para
os habitantes da Ilha do Massangano, falar em caatinga é falar do que está para além da
“terra firme”; é referir-se ao longe, ao sem-fim seco do sertão. É um lugar que, por
oposição àqueles banhados pelas águas, não querem jamais habitar.
22 É justamente nessas partes mais secas, altas e distantes que são enterrados seus mortos.
Pelo menos aqueles que morreram em idade adulta. Na Ilha do Massangano há espaço
apenas para o cemitério dos anjinhos, onde só crianças podem ser enterradas. Ainda
assim, este pequeno cemitério fica na parte “de cima” da ilha, onde a terra nunca se
alaga e se sustentam os caminhos. Aos seus adultos, preferem enterrá-los fora da ilha,
em “terra firme” do outro lado do rio, em lugar separado pelas águas, lá no “sem-fim”
da “caatinga braba”, a uma “boa distância” de suas moradas – no cemitério da Vila do
Rodeadouro, onde a terra, além de seca, é dura e pedregosa.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
177
23 Tão seca e distante é essa terra, que nem mesmo os mortos escapam de ter saudades:
tanto das águas, quanto de sua gente. Numa visita ao pai no dia de finados, no duro
trajeto até o cemitério, os filhos de Dona Amélia levaram consigo um par de garrafas
cheias de água: “é pra matar a sede deles”, brincavam. A sede, no caso, refere-se menos
a uma saudade da água e mais de uma certa vida que se passa no meio dela – como
aquela que Dora nos apresentou.14 Ao regarem a cova do pai e de outros parentes mais
próximos, dosavam como podiam a “boa distância” de seus mortos. A medição do que é
perto e do que é longe é sempre acionada na ilha quando o assunto é onde devem
enterrar seus mortos. Um cunhado de Dona Amélia, tempos antes de morrer,
reafirmava que queria ser enterrado na ilha porque o cemitério do Rodeadouro era
longe demais para ele. Sua esposa, no entanto, discordou. Para ela, o bom mesmo seria
que ele ficasse junto de seus outros parentes mortos. E assim ela decidiu, à revelia da
vontade do marido, para que ele pudesse habitar, com mais tranquilidade, o novo
mundo que lhe cabia: o das almas.
24 Na ilha estão sempre regendo distâncias necessárias para a mínima ordem do encontro
de mundos, quando estes se atualizam numa mesma terra. Penso que o perigo de
ficarem perto demais, é, pois, o de virar um mundo no outro, ficar o mundo do avesso,
aproximar o fim do mundo, o sertão virar mar e o mar virar sertão. O perigo que Lévi-
Strauss (2006) chamou de conjunção ou disjunção catastrófica, quando formalizou o
conceito de “boa distância” no terceiro volume das Mitológicas. 15 Do lado da Ilha do
Massangano, meus amigos de lá calculam essas distâncias quando, por exemplo,
despejam alguma água – nem muita, nem pouca – nas covas de seus parentes mortos,
sejam eles crianças ou já adultos; ou quando medem a “boa distância” que devem
manter do cemitério onde enterram seus mortos adultos, que por sua vez deve estar
“longe demais” (longe da ilha, do outro lado do rio, na banda da Bahia, em terra firme,
no alto, no meio da caatinga brava). O mesmo acontece, para retomarmos o começo de
nossa conversa, quando desviam de algumas encruzilhadas no trajeto entre uma casa e
outras. Diante disso, inspirada no trabalho de José Carlos Gomes dos Anjos (2006),
naquilo em que seu campo coincide com o meu, retomo a noção êmica de encruzilhada
como sendo, assim como o autor a descreve, um “território de linha cruzada”; isto é,
“muito além de uma simples metáfora entre a vida e os caminhos, temos [na
encruzilhada] um pensamento que faz da vida um território” (Anjos 2006: 19).
25 No rumo e no sentido de “fazer da vida um território”, ou melhor, de “fazer vida na
terra”, pretendo seguir uma certa cosmopolítica acionada na Ilha do Massangano. Lá,
estão a todo momento atualizando tecnologias para mediar essas aproximações de
mundos, de modo a manter seu mundo e o mundo das almas e dos cabolos sempre a
uma “boa distância”. Nesse sentido, percorrerei tais distâncias em dois tempos
distintos: o tempo da Quaresma – que também é o tempo das almas – e o tempo
restante, quando as correntes de caboclo podem correr soltas pela ilha.
26 Durante a Quaresma, ao revés do que Dona Amélia me ensinou na nossa primeira
caminhada, o que se procura é o desvio: é quando perseguem as encruzilhadas e
ocupam sistematicamente os “lugares de livusia”. Nesse período, que segue da Quarta-
Feira de Cinzas até à Sexta-Feira da Paixão, as “alimentadeiras de almas” saem envoltas
em “panos brancos” percorrendo algumas encruzilhadas, que nesse tempo recebem o
nome de “estações”. Fazem isso na intenção de cuidarem de suas almas e de todas as
outras que estejam no “por aí” na Ilha do Massangano. Isso porque, juntas, as estações
conformam um percurso de sete pontos que, como uma “cruz de caminhos”, abrigam
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
178
uma maior probabilidade de que almas e pessoas se encontrem. O conjunto das estações
pode incluir uma típica encruzilhada ou variações dela, como cemitérios, igrejas,
cruzeiros e até mesmo o interior de algumas casas, quando nelas são oferecidos cafés
àquelas que se dedicam a alimentar de reza as almas necessitadas. Essas
“alimentadeiras de almas” são um grupo de mulheres e crianças que, ao modo de uma
Via Crucis e à imagem e semelhança das próprias almas, saem durante as segundas,
quartas e sextas-feiras da Quaresma pela ilha, dando “de comer” através da reza a toda
sorte de almas – tanto as gerais, quanto as de seus parentes idos. 16
27 As sete estações penitenciais, segundo me contaram, desde que “se entendem por
gente”, sempre foram as mesmas. No entanto, quanto mais eu caminhava com elas,
mais eu percebia que o que importava não era tanto a constância do lugar em que a
estação se encontrava, mas o ponto a partir do qual a caminhada se dava. Explico: não
precisavam evitar construir suas casas em certos locais a fim de preservar as
encruzilhadas consagradas como estações; ao contrário, eram as encruzilhadas que se
adaptavam ao rearranjo, sempre frequente, entre as casas daquelas que andavam com
as almas. Os nomes dados às estações (estação de Joana ou da Velha Chica, por exemplo)
não mapeiam propriamente um território, mas falam de relações entre as almas e
aquelas que mais frequentemente caminham com elas. Se preferirmos usar uma
linguagem próxima à de Ingold (2015), as estações não delimitam tanto uma área
mapeada por pontos numa rede, antes elas se configuram como nós em uma malha de
relações que vão sendo tecidas no percorrer da caminhada. Ou, em outras palavras, as
estações são “lugares de livusia” não apenas porque as almas vivem ali, mas justamente
porque a encruzilhada se define por configurar um encontro, um cruzamento, entre
almas e aquelas que caminham com elas numa mesma terra.
28 Entretanto, o “plano de livusia” não se faz apenas de encruzilhadas – e tampouco nas
encruzilhadas cruzam apenas almas. Também algumas qualidades de caboclos podem se
demorar por ali. Silvano, que também habita a ilha, me contava de como jorrava água
de suas mãos e de seus pés no tempo em que frequentou a casa de caboclos de maior
prestígio da ilha, a “casona” de Seu Berto Barrinha, falecido cunhado de Dona Amélia.
“Ali tinha força!”, disse-me Silvano e tantas outras pessoas que giraram as giras dos
caboclos de lá. Ou ainda, como insiste em dizer Dona Amélia, que foi “cabeceira de
mesa” dessa casa de caboclos, ali a “corrente” é forte. 17 Tal força, me explicou, deve-se
ao fato de que vivem “no meio do rio”, onde a “correnteza” passa em toda sua potência.
Com frequência traçam uma correspondência entre a “corrente das águas”, designação
da linha de caboclos que mais abunda na Ilha do Massangano, e a “correnteza” das
águas que circundam a ilha, de modo que, muitas vezes, “corrente” e “correnteza”
aparecem em suas falas com significados próximos. Lembram-se com entusiasmo do
tempo em que se fazia a festa da Marujada de Seu Berto Barrinha, quando um após o
outro e em efeito-cascata, os médiuns se “encaboclavam” sobre os barcos que saíam em
cortejo ao redor da ilha. Ali, sobre a força da correnteza, a “corrente das águas”
ganhava tanta força que quem se aventurasse a segui-la tinha que cuidar para não cair
no rio abaixo. E de fato não caíam.
29 Os caboclos em geral e, em particular, aqueles da “corrente das águas”, são tidos como
seres mais afeitos às águas. Elas, as águas, movem não apenas a terra de um lado para
outro, mas também toda qualidade de seres que nela habitam: seja sua gente, sejam
certos caboclos que retiram das correntezas a força de sua corrente. Peba, “caboqueira
fina” da ilha, me contava do tempo em que se podia ver, a troco de nada, seres que
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
179
habitavam ao redor das pedras em frente à sua casa. Com alguma facilidade deparavam-
se com navios repletos de pequenos marujos, os “negos d’água”, mas também com
algumas sereias que, metade gente, metade peixe, estacionavam por cima das pedras
onde corriam cachoeiras. Entretanto, hoje com o rio “seco e parado do jeito que está”,
Peba já não vê quase nada – mas sente. Para ela, assim como para Dona Amélia no caso
que abre esse artigo, não é porque a gente não mais veja os caboclos que eles não
existem ou não estão “por ali”. Para peba, “caboclo não acaba”. E completa: “Acaba o
terreiro, acaba tudo, mas caboclo não acaba. Caboclo caça canto”.
30 Mas ainda que não se saiba para que canto vão, se sabe que não estão sozinhos na
debandada. Em terras não tão longe dali, há outras pedras que também já não abrigam
mais espíritos; a alguns quilômetros a jusante da ilha, os índios pankararu, diante da
falta nas cachoeiras de Paulo Afonso e de Itaparica, hoje também embarreiradas, já não
mais podem encontrar certas linhas de “encantados” 18 que ali habitavam (cf. Arruti
1996).19 Para meus amigos da ilha, o fim das correntezas implica em grande medida o
fim de determinadas correntes, ou, no limite, o fim da vida – pelo menos essa com a
qual sempre viveram. É sobre esses embarreiramentos de movimentos que produzem
fins de mundos que tratará a próxima secção deste texto.
A barragem e a inversão do mundo
31 No tempo “de primeiro”, o período da Quaresma, também chamado de “tempo das
almas”, coincidia com o “tempo das águas” na Ilha do Massangano: a chuva, às vezes
miúda, às vezes farta, caía sobre a terra que, agora seca, já havia sido invadida pelas
águas do rio em épocas de “vazante geral” – quando o rio enchia em sua cabeceira,
fazendo com que suas águas barrentas inundassem as beiras da ilha, sempre de “cima”
para “baixo”. Depois de passadas as chuvas, “nem vento não tinha”, lembrou Oséias, um
outro amigo de lá. Se quisessem “empurrar canoa”, tinham de “puxar remo”.
Entretanto, Oséias insistia, o tempo da estiagem não era um tempo morto: ele coincidia
com o período em que chovia no “rio de cima”, na cabeceira do rio, provocando as tão
lembradas cheias do rio São Francisco. O início da subida das águas indicava o tempo da
colheita, quando costumavam colher mandioca ou batata com as “águas nos joelhos”,
salvando a plantação antes que o rio “tomasse de conta de novo”. Nesse tempo, com
exceção de uma ou outra, as poucas casas que ali havia enfileiravam-se uma única rua
situada “do lado de fora” da ilha, uma vez que o lado de “dentro” era o lado interior da
roça, onde ficavam as plantações. As casas estavam, portanto, no “lado de fora” e no
“alto”, onde era menor a probabilidade da chegada das águas na época da cheia. Mas às
vezes, ao invés de cheia, vinham as enchentes – sendo as mais lembradas as de 1949 e
de 1979. Quase sempre à noite e sem avisar, a água entrava sorrateira, engolindo aos
poucos o barro das casas de taipa e lambendo os pés de quem estivesse dormindo. Era
sempre com as águas pelos pés que se retiravam para o alto da ilha e improvisavam-se
nas terras de parentes, levando consigo, além das crianças e dos animais, os poucos
pertences. Embora a casa literalmente caísse, é com alegria que lembram do tempo das
enchentes: com o peixe farto à mão, comemoravam poderem viver todos juntos, “como
se fossem um”, cercados por um rio bonito, cheio e escuro, porque barrento.
32 Por outro lado, também eram raros os períodos de larga estiagem – as secas – que
faziam minguar o rio. Os mais velhos lembram-se, por exemplo, das vezes que puderam
atravessar o rio a pé de lado a lado. Isso na “banda do Pernambuco”, porque na “banda
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
180
da Bahia” só podiam chegar até a metade, porque lá, diferentemente de agora, “toda a
vida foi fundo”. A diferença de um tempo para o outro, me dizia Oséias, é que ainda que
já tivessem visto o rio seco, ele nunca esteve tão raso. Raimundão, primo de Dona
Amélia, concordava com Oséias e dizia que, sem ter beira, aterrado e parado, o rio
“raseou”:
“Porque, depois das barragens, aí o rio virou um poço, não tem mais carreira para
puxar a terra. Antigamente, quando não tinha barragem, isso aí era tudo fundo! […]
a corrente carregava a terra que ia acumulando… Aí não acumulava não, porque
carregava. Aí hoje, fica a bacia do rio limpa, limpa, limpa. Só com as pedras mesmo.
[…] Mas… grande é Deus!” [Raimundão, 70 anos].
33 Embora tenha sido construída a montante da ilha, a barragem de Sobradinho, a 40
quilômetros, é um divisor de águas na vida daqueles que caminham na ilha. Ao
contrário do que aconteceu às comunidades que viviam a montante da barragem, que
não mais puderam ver o rio “baixar”, ali, a jusante, testemunham um rio que nunca
para de secar.20 Entretanto, o temor de meus amigos da ilha não parece ser tanto que o
rio esteja seco, mas sim que esteja raso, sem beira e sem correnteza.
34 Para finalizar, volto à pergunta colocada no início do artigo: no que a descontinuidade
do fluxo das águas, isto é, a frenagem de sua correnteza provocada pela construção da
barragem de Sobradinho, afeta os outros mundos que atravessam a terra da Ilha do
Massangano? Ou, ainda, se é verdade que ali as relações entre gente, almas e caboclos
são orientadas em grande medida pela passagem entre um mundo e outro, cuja
consistência é dada pela relação entre terra e rio, o que acontece então quando esses
territórios de passagem são “desviados”, “transpostos”, “soterrados” ou “barrados”?
35 Volto à conversa com minhas amigas Conceição e Peba. Conceição lamentava não poder
“levar à frente” a obrigação que divide com a mãe em homenagem aos caboclos que,
como ela, são gêmeos: Cosme e Damião. Me explicou que no balneário da Ilha do
Rodeadouro, onde mantém uma banca de acarajés, o movimento está “quase parado”,
por conta de o rio estar baixo do jeito que está, “só croa e pedra”. Seu cálculo era
simples: sem acarajés vendidos não há dinheiro, e sem dinheiro não há festa. “Deus não
quer da gente o impossível”, resignava-se. Diante de meu espanto com a secura do rio
naquele ano, perguntei a Peba se haveria água e correnteza que levasse o barco da
“festa das águas” rio adentro – ocasião em que ela, aproveitando a festa de Cosme e
Damião do pai, promove uma barqueata pelo rio, oferecendo presentes aos caboclos
desta corrente. Apesar da pouca água, Peba me explicou que “faz o possível”: cada ano
vai até um porto mais longe, em barcos menores, caçando (como fazem os caboclos em
suas correntes) alguma correnteza que os arraste. Conceição, escutando a conversa de
Peba, olhava com alguma esperança para o esforço da prima. Diante da iminência de
que o rio seque, Conceição não parecia temer tanto o fim do mundo, mas o fim da
cidade. Isto é, parecia temer que, com o fim das águas, a ilha deixe de ser ilha, tudo vire
terra (a firme), o movimento “pare” e, com ele, também a cidade a partir da qual
“enfrentam” a vida – seja com a venda nos balneários, seja trabalhando como
assalariados nas “firmas” de agricultura irrigada.
36 Penso que, diante da iminência de um fim, meus amigos da ilha reelaboram em seus
termos a famosa escatologia sertaneja, cujo “sistema mítico-ritual” é conhecido como
messianismo e foi batizado por Cristina Pompa (2009) como a “cultura do fim do
mundo”, ao pensar o movimento “Pau de Colher” no município de Casa Nova, no ano de
1938, a cerca de 70 quilômetros dali. A subida ou descida definitiva das águas, para eles,
não é propriamente um fim do mundo, mas talvez o fim de um mundo em movimento,
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
181
tal qual o conheceram. Observam com alguma melancolia, mas também com profunda
descrença, a ideia de um fim derradeiro. Não é a primeira vez que se deparariam com
ele. Um certo mundo já se acabou para eles quando, após a construção da barragem de
Sobradinho, findaram-se as navegações no curso grande do rio, as lagoas onde faziam a
pesca de “rancharia” já não encheram mais, acabou-se a agricultura de várzea e já não
há mais retiradas de suas casas, porque não há mais enchentes. Para eles, ainda que a
terra não mais ande, o mundo não para. Mesmo que não mais vejam as sereias ou
escutem seu canto, os arrepios que sentem na pele os fazem não ter dúvidas que elas
estão “por aí”, em algum lugar, num outro mundo que só é possível porque, a princípio,
existe.
Receção da versão original / Original version
2017 / 05 / 03
Receção da versão revista / Revised version
2018 / 09 / 16
Aceitação / Accepted 2019 / 01 / 29
BIBLIOGRAFIA
ANJOS, José Carlos Gomes dos, 2006, No Território da Linha Cruzada: A Cosmopolítica Afro-Brasileira.
Porto Alegre, Editora UFRGS/Fundação Cultural Palmares.
ARRUTI, José Maurício, 1996, O Reencantamento do Mundo: Trama Histórica e Arranjos Territoriais
Pankararu. Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro, dissertação de mestrado.
BANAGGIA, Gabriel, 2015, As Forças do Jaré: Religião de Matriz Africana da Chapada Diamantina. Rio de
Janeiro, Garamond.
BASTIDE, Roger, 1978, O Candomblé da Bahia: Rito Nagô. Brasília, Editora Brasiliana.
CARDOSO, Vânia Z., 2004, Working with Spirits: Enigmatic Signs of Black Sociality. Austin, University
of Texas, tese de doutorado.
CASTRO, Eduardo Viveiros de, 2002, “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”,
em E. V. Castro, A Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios de Antropologia. São Paulo, Cosac
Naify, 345-349.
COSTA, Ana Luiza Martins, 2013, Uma Retirada Insólita: Rio São Francisco, Barragem de Sobradinho. Rio
de Janeiro, IPPUR/UFRJ.
CUNHA, Euclides da, 2016 [1902], Os Sertões. São Paulo, Ubu Editora/Edições Sesc.
ESPÍRITO SANTO, Diana, e Ruy BLANES, 2013, “Introduction: on the agency of intangibles, em
R. Blanes e D. Espírito Santo (orgs.), The Social Life of Spirits. Chicago, The University of Chicago
Press, 1-32.
FAVRET-SAADA, Jeanne, 1990, “Être affecté”, Gradhiva, 8: 3-9.
GOLDMAN, Marcio, 2016, “Além da identidade: antisincretismo e contramestiçagem no Brasil”,
apresentado ao Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Unisinos, São Leopoldo, RS.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
182
GUATTARI, Felix, 1990, As Três Ecologias. Campinas, Papirus.
INGOLD, Tim, 2015, Estar Vivo: Ensaios sobre Movimento, Conhecimento e Descrição. Petrópolis, RJ,
Vozes.
LATOUR, Bruno, 2012, Reagregando o Social. Salvador e Bauru, EdUFBA e EdUSC.
LÉVI-STRAUSS, Claude, 2006, Mitológicas 3: A Origem dos Modos à Mesa. São Paulo, Cosac Naify.
LIMA, Tânia Stolze, 1996, “O dois e seu múltiplo: reflexões sobre o perspectivismo numa
cosmologia tupi”, Mana, 2 (2): 21-47.
LIMA, Vivaldo da Costa, 2005, Cosme e Damião: O Culto aos Santos Gêmeos no Brasil e na África.
Salvador, Corrupio.
MELLO, Cecília, 2017, “Quatro ecologias afroindígenas”, R@U: Revista de Antropologia da UFSCar,
9 (2): 29-41.
NETO, Edgar Rodrigues Barbosa, 2012, A Máquina do Mundo: Variações sobre o Politeísmo em Coletivos
Afro-Brasileiros. Rio de Janeiro, Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro, tese de
doutorado.
NÓBREGA, Márcia, 2017a, “Entre ‘almas’ e ‘caboclos’, um ‘povo só’: diferença e unidade numa ilha
no Rio São Francisco”, R@U: Revista de Antropologia da UFSCar, 9 (2): 109-122.
NÓBREGA, Márcia, 2017b, “O Samba é Fogo”: O Povo e a Força do Samba de Véio da Ilha do Massangano.
Rio de Janeiro, Papéis Selvagens/SESC.
POMPA, Cristina, 2009, “Memórias do fim do mundo: o movimento de Pau de Colher”, Revista USP,
82: 68-87.
PINA-CABRAL, João de, 2014, “World: an anthropological examination (part 1)”, Hau: Journal of
Ethnographic Theory, 4 (1): 49-73.
PRANDI, Reginaldo (org.), 2011, Encantaria Brasileira: O Livro dos Mestres, Caboclos e Encantados. Rio
de Janeiro, Pallas.
SANTOS, Juracy Marques dos, 2012, “Danos simbólicos e valoração ambiental: um estudo de caso
da bacia do rio São Francisco”, Revista Opará, 2, disponível em http://revistaopara.facape.br/
article/view/89 última consulta em junho de 2019).
SIGAUD, Lygia, 1988, “Efeitos sociais de grandes projetos hidrelétricos: as barragens de
Sobradinho e Machadinho”, em L. P. Rosa, L. Sigaud e O. Mielnik (orgs.), Impactos de Grandes
Projetos Hidrelétricos e Nucleares: Aspectos Econômicos, Tecnológicos, Ambientais e Sociais. Rio de
Janeiro, UFRJ/COPPE e Editora Marco Zero, 83-166.
T/TERRA – Laboratório de Antropologias da T/terra, 2017, Revista Entreterras, 1 (1).
NOTAS
1. Ir “ter com os caboclos”, “brincar caboclos”, ou algum termo que o valha, é como os habitantes
da ilha falam quando caminham para uma “casa de caboclos”. Se perguntados, dirão que são
católicos e que praticam a “Mesa Branca”, que só trabalha para o bem e com “Jesus Cristo na
frente” – ou, em outras palavras, que lá não se “bate couro”, nem se trabalha com “o esquerdo”
ou, simplesmente, com “o candomblé”. Embora Mesa Branca designe um braço do espiritismo
kardecista – no qual médiuns reúnem-se em volta de uma mesa coberta por panos brancos onde o
consulente deita-se a fim de ser curado por guias espirituais –, para os habitantes da Ilha do
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
183
Massangano, tais denominações não fazem diferença. Nas casas de caboclo, ao lado de onde fica a
mesa, há um salão onde propriamente “brincam caboclo”: sem tambores e com palmas, é o guia
do dono da casa quem comanda a sessão, na qual, ponto a ponto, “caboqueiros” “pegam” seus
caboclos até o momento da chegada dos “cosminhos”, os caboclos crianças, que sempre encerram
os trabalhos.
2. A etnografia aqui é apresentada é um desdobramento de minha pesquisa de doutorado, ainda
em andamento, mas que teve início já no período do mestrado, em 2008, quando fiz minha
primeira estadia em campo. De lá para cá, portando, já são dez anos de idas e vindas caminhando
entre eles. A dissertação de mestrado, defendida pelo PPGAS da Universidade Federal Fluminense
(UFF) em 2010, foi publicada em livro em 2017 (cf. Nóbrega 2017b).
3. Entrada “Aleivosia”, Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (Curitiba, Editora Positivo,
2004, 3.ª ed.).
4. “Diante disso, nosso objetivo é realinhar, de um lado, a reflexão antropológica que tem
destacado a presença constitutiva de não humanos nas socialidades indígenas, e, de outro lado,
esta convocação e recente emergência política desses não humanos – e da própria T/terra – nos
discursos e práticas de seus porta-vozes contemporâneos. Assim, torna-se mais fácil
compreender como todos esses actantes são plena e visceralmente políticos: pessoas cuja própria
sobrevivência é um ato radical […]” (T/terra 2017: 20).
5. “This exploration rests upon a philosophical and epistemological assumption, which is also a
challenge: the recognition of the anthropological relevance of the mechanics and effects of so-
called invisible or intangible domains, whether these are constituted by spirits, quarks, the law,
or money value” (Espírito Santo e Blanes 2013: 1).
6. No total, há no rio São Francisco cinco barragens. Da nascente para a foz, no trecho do alto São
Francisco está a única barragem no estado de Minas Gerais, a de Santa Maria; as demais estão
todas localizadas no curso do trecho submédio do rio, onde este faz fronteira com o estado da
Bahia: a de Sobradinho, a de Itaparica (hoje de nome Luiz Gonzaga), o complexo de barragens de
Paulo Afonso e, por último, a de Xingó. Para mais informações sobre o processo de construção do
complexo de barragens ao longo do rio, em especial a da barragem de Sobradinho, ver Sigaud
(1988).
7. Na época dos debates em torno da implementação da transposição do rio São Francisco – cujo
primeiro ponto está a menos de 200 quilômetros de Petrolina, na cidade de Cabrobó, no estado de
Pernambuco –, argumentava-se que o que capturaria da vazão do rio seria algo entre o mínimo de
26 m3 e o máximo de 126 m3 de água, o que não afetaria em nada a chamada “vazão ecológica” do
rio, uma vez que existia o pressuposto de que há uma vazão “segura e firme” desde Sobradinho,
mantida em 1800 m3/s. Em 2017 a vazão daquele trecho chegou a 450 m3/s, segundo dados da
Agência Nacional das Águas (ANA). Dados disponíveis em http://www.asabrasil.org.br/noticias?
artigo_id=9132 (última consulta em junho de 2019).
8. A Festa de Cosme e Damião é a única das grandes festas de caboclo que persiste na Ilha do
Massangano. Os santos gêmeos são sincretizados tanto com o orixá Ibeji, que guarda a
gemelaridade na cosmologia Yorubá, quanto com os erês – a qualidade infantil, o estado de
criança, dos orixás (cf. V. C. Lima 2005). Na ilha, Cosme e Damião são caboclos muito queridos,
cuja versão prosaica são os “cosminhos”, qualidade criança dos caboclos, que – quando os há –
sempre fecham as giras.
9. O termo para definir quem tem relação com espíritos, de modo geral, é “médium”
(frequentemente também usam a corruptela “média” para se referirem às do gênero feminino).
Para quem tem relação com os caboclos (em que mais adiante me deterei melhor), também usam
o termo “caboqueiro” ou “caboqueira”.
10. Há, inclusive, vários povoados daquele trecho de rio que têm como santo padroeiro aquele
cuja imagem foi encontrada ou trazida desde Canudos após o fim da guerra. No caso da Ilha do
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
184
Massangano, a estatueta de Santo Antônio, seu padroeiro, foi trazida por um cunhado de
Celestina que o salvou intacto no meio dos destroços da guerra (cf. Nóbrega 2017b).
11. A etnografia de Vânia Cardoso (2004) sobre o “povo da rua”, tal como concebido pelo “povo
da macumba” da baixada fluminense do estado do Rio de Janeiro, apresenta relações entre uns e
outros também a partir de uma aura de indeterminação, de modo bem próximo ao que pude
perceber na Ilha do Massangano na relação que traçam com os caboclos.
12. O politeísmo, termo através do qual Edgar Barbosa Neto (2012) escolhe apresentar as ideias de
lados e dobras, permite pensar os espaços compartilhados entre gente e espíritos de modo
diferente do que o sincretismo fez anteriormente. O exercício de pensar um conceito que dê
conta de misturas que não se configurem como fusão de partes resultante em um todo
homogêneo é apenas uma componente de um projeto maior, no qual o autor está inserido,
coordenado por Marcio Goldman, sobre o que este vem chamando, ao menos provisoriamente, de
relações afroindígenas (cf. Goldman 2016).
13. Para uma discussão sobre a controvérsia que opôs os alinhados do que se chamou de “virada
ontológica” àqueles que advogam pela existência de apenas um mundo, isto é, de apenas uma
ontologia, veja-se o que afirma Pina-Cabral: “Yet this is an incorrect assumption: Davidson is
absolutely explicit about the fact that there is only one single ontology (there is only one world)
and his dialogue with Spinoza at the end of his life is precisely an elaboration on that idea […]. To
attempt to salvage the metaphysical nature of Viveiros de Castro’s perspectivism […] by twisting
Davidson’s positions is plainly a misguided step” (Pina-Cabral 2014: 65).
14. Não há relatos entre meus amigos da ilha de que exista algo na substância da água que seja
imprópria para os mortos, ou ainda, para as “almas”. Ainda que a água esteja relacionada à vida,
ela não se opõe à morte. Sobre a relação entre a água e o mundo dos mortos, ver, por exemplo,
Bastide (1978), quando fala dos cultos dos eguns na Ilha de Itaparica, na Bahia. A relação entre
água e terra também é importante para o jarê da Chapada Diamantina, uma religião dita como
um tipo de candomblé de caboclo localizada na região chamada alto sertão do rio São Francisco.
Essa relação engendra aquilo que Gabriel Banaggia (2015) chamou de “metafísica telúrica”: “Essa
série de disposições em relação ao chão e à terra pode ser caracterizada como parte de uma
‘metafísica telúrica’ que, se não é de modo algum exclusiva ao jarê, encontra na Chapada
Diamantina um solo particularmente apropriado para elaboração” (Banaggia 2015: 176).
15. O famoso caso exposto por Lévi-Strauss (2006) trata do mito dos gêmeos Sol e Lua, presentes
entre diversos povos. O mito trata de um gêmeo mau que mata a mãe no parto e a degola,
tornando-se a cabeça pendurada a Lua ou o Sol, a depender da versão do mito. O gêmeo bom, por
outro lado, irá ao leste, no firmamento, garantir o nascer do dia, estabelecer a periodicidade, o
momento intervalar. Sol e Lua viajam de canoa, um na proa e outro na popa – separados, pois –,
de modo a manter o equilíbrio sempre instável da organização do mundo. Em suma, o que um faz
o outro desfaz. A partir daí, o autor elabora sua teoria da “boa distância”, uma vez que devem se
manter separados o céu e a terra (bem como outras dualidades perigosas).
16. Ainda que as “alimentadeiras de almas” possuam seu correlato masculino, os “penitentes”,
aqui me interessa deter-me sobre elas, no sentido em que é enfatizado no domínio das mulheres o
vínculo com a terra, através do cumprimento das estações enquanto percurso – o que não
acontece com os “penitentes”. Há diferenças substanciais entre um grupo e outro. As que
chamam mais atenção, entretanto, são que, entre os “penitentes”, são admitidos apenas homens
iniciados e em idade adulta e que, uma vez no cordão, o penitente deve, num período mínimo de
sete anos, “se cortar”, reproduzindo em seu corpo o sofrimento de Jesus Cristo.
17. Ser “cabeceira de mesa” é uma função de prestígio dentro de uma casa de “mesa branca”.
Quem ocupa essa função é responsável por anotar os recados entre os caboclos e seus consulentes
durante as consultas e as giras.
18. Para o povo da Ilha do Massangano, o “encantado” é um tipo de “caboclo”. No geral,
entretanto, entende-se por encantado aquele que se encantou, isto é, o que ao morrer passou
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
185
para outro plano de existência, para um mundo muito próximo à natureza, sem, contudo, deixar
vestígios de seu corpo na terra onde viveu. A “encantaria” produz um tipo de ser muito comum
nas cosmologias ameríndias, tanto no Nordeste quanto no Norte do Brasil. A esse respeito, ver,
por exemplo, Prandi (2011).
19. A lista não se limita a essas situações. Juracy Marques dos Santos (2012) alerta também para o
caso do povo tuxá, de Rodelas, que teve que se deslocar de modo forçado de seus locais sagrados,
após a construção da barragem de Itaparica: “A dimensão sagrada das cachoeiras e
consequentemente, a expulsão dos encantados ordenadores de suas cosmovisões; a extinção de
parte da ictiofauna sanfranciscana em virtude da quebra nos ciclos reprodutivos das espécies
nativas após o alicerçamento dos grandes barramentos e suas consequências na vida dos
pescadores artesanais, entre tantos e infinitos exemplos, ainda não estão na pauta do jogo
jurídico dos processos idenizatórios nem configuram-se como condicionantes para liberação de
licenças ambientais desses empreendimentos” (Santos 2012).
20. Em seu livro Uma Retirada Insólita, Ana Luíza Martins Costa (2013) descreveu o que aconteceu a
um grupo camponeses ribeirinhos do rio São Francisco que viviam a montante de onde a
barragem de Sobradinho foi construída. Acostumados, como os da Ilha do Massangano, a se
retirarem nos momentos de cheia ou enchente, resistiram a sair de suas terras em definitivo,
como queriam os técnicos da CHESF. Muitos apenas o fizeram – como sempre costumaram fazer –
com as águas já entrando nas casas. Deu-se ali a “inversão do mundo” que a autora chamou de
“insólita”, isto é, a subida definitiva das águas veio de baixo para cima (e não de cima para baixo)
e numa velocidade desconcertante.
RESUMOS
Esse artigo se propõe pensar de que forma pessoas, “almas” e “caboclos”, em suas diversas
modulações, convivem e povoam o espaço de uma ilha situada no trecho submédio do rio São
Francisco, no Brasil, a Ilha do Massangano. Por viverem numa ilha em meio ao semiárido
nordestino, seus habitantes articulam a presença desses seres à força dos regimes das águas do
rio e sua relação com o sem-fim da “terra firme”, atualizado ali no bioma da caatinga. Em
oposição à terra firme, a ilha ela própria anda, movida pela força das correntezas do rio. Junto a
terra da ilha, também caminham com sua gente algumas modalidades de espíritos, as “almas” e
os “caboclos”, que estão “por aí”, no dizer, povoando certos lugares, aqueles que carregam
“livusias”. Diante disso, procuro pensar como os mundos e suas povoações contidos na ilha são
afetados pelo regime de transformações que a terra em que habitam vem sofrendo.
The article explores how people cohabit with different kinds of “souls” and “caboclos,” all
populating the space of the island of Massangano, located in the lower-middle region of São
Francisco River, in Brazil. Living on an island in the semi-arid Northeast, its inhabitants associate
the presence of those other beings to the power of the river’s waters and its relationship with the
unending “dry land,” there taking the form of the caatinga biome. As opposed to the mainland,
the island itself walks, moved by the force of the river’s streaming. Along the island’s ground,
some modalities of spirits, the “souls” and “caboclos,” are “out there,” as they use to say,
accompaning the people and populating certain places, those that carry “livusias.” Accordingly, I
try to think how the worlds and their populations confined on the island are affected by the
changes suffered by the land that they inhabit.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
186
ÍNDICE
Keywords: caboclos, souls, settlement, land, world
Palavras-chave: caboclos, almas, povoamento, terra, mundo
AUTOR
MÁRCIA NÓBREGA
Programa de Pós-Graduação de Antropologia Social, Universidade de Campinas (Unicamp), Brasil
marciamnobrega@gmail.com
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
187
No-humanos que hacen la historia,
el entorno y el cuerpo en el Chaco
argentino
Non-humans making history, the environment and the body in the Argentinean
Chaco
Florencia Tola
Introducción
1 Hacia fines de la década de 1990 comencé a hacer trabajo de campo entre los tobas
(qom) de la provincia de Formosa, en el Chaco argentino. A los pocos meses de estar en
Formosa, me instalé en Namqom, el barrio toba situado a las afueras de la ciudad, a
vivir en la pequeña y modesta casa de un reconocido chamán junto con sus seis hijos,
los cónyuges de algunos de ellos, su esposa y varios de sus nietos. Si bien por aquellos
años el barrio toba no tenía las características que fue adquiriendo con el paso del
tiempo (superpoblación, marginalidad, violencia, droga y prostitución), no era
necesariamente un lugar calmo donde llevar adelante una primera experiencia
etnográfica, ni una comunidad alejada de la ciudad y ubicada en el medio de la selva
(“monte”). Por las noches, en Namqom se oían los gritos de los borrachos, se
escuchaban peleas entre bandas enemigas y por las mañanas nos enterábamos si habían
habido acuchillados, si la policía había golpeado y apresado a algún borracho, si habían
violado a alguna joven o si los camioneros que pasaban por la ruta habían atropellado a
alguien.
2 A pesar de las condiciones adversas, lentamente fui entrando en el universo más íntimo
de varias de las personas que allí viven. A medida que la confianza lo iba permitiendo,
hombres y mujeres me fueron expresando ideas que cualquier naturalista calificaría de
irracionales o absurdas. En diversos escenarios discursivos y prácticos, hombres y
mujeres referían no solo la existencia de entidades desconocidas para mí y para
cualquier no-indígena, sino que también aludían a la posibilidad de entablar con ellas
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
188
relaciones que serían impensables para alguien cuyos conocimientos del mundo se
estructuran sobre uno de los pilares del Occidente moderno: la “gran división”
naturaleza/cultura.1 Manchas negras en la piel eran entonces explicadas como las
huellas de los golpes de pel’ec (el ser no-humano de la noche), 2 las separaciones de
parejas eran fruto del polvo de huesos de muerto esparcidos en los hogares, una
malformación de nacimiento era la consecuencia de una cercanía extrema con alguna
presa durante la gestación y un ronquido nocturno en un bebé era el fruto de la fusión
del espíritu del jaguar con el del bebé.
3 Lo que llamaba mi atención – y que fue delineando a lo largo de mi etnografía mi
replanteo, para el Chaco, de la oposición en cuestión – era que las relaciones y
acontecimientos que los qom describían no podían ser catalogados ni como fenómenos
naturales, ni como sucesos espirituales, ni como acontecimientos externos a un cuerpo
pensado como biológico. Lejos de ser un hecho natural sobre el cual la cultura
desplegaría un sistema de significados, el cuerpo-persona se mostraba entre mis
interlocutores como un espacio socialmente transformado que tenía como motor otros
acontecimientos en los cuales diversas entidades intervenían y detonaban sucesivas
transformaciones. Diversos ámbitos de mi experiencia etnográfica me fueron
conduciendo a la necesidad de pensar y hablar de las experiencias vitales de mis
interlocutores de un modo que no estuviera sesgado por la manera en que nuestra
ontología ubica ciertos fenómenos en el ámbito de la naturaleza (lo universal, lo
rutinario y mecánico, lo no-intencional, etc.) y otros en el de la cultura (lo particular, lo
creativo, variable e intencional). Por otro lado, no dejaba de sorprenderme que aquello
que mis interlocutores referían no quedaba tampoco en el plano discursivo: las
experiencias que me referían no eran ni puras metáforas usadas por ellos para hablar
de otras cosas (que yo debía descifrar), ni remitían a entidades que podríamos imaginar
como pertenecientes a un pasado mítico. Las relaciones entabladas con eses seres que
los tobas me referían eran vividas como relaciones tangibles, audibles y concretas con
entidades inmanentes al mundo de los seres humanos. 3
4 De hecho, la diversidad de situaciones de la vida cotidiana en la que los tobas entablan
vínculos y comunicación con animales, plantas, fenómenos atmosféricos y otros seres
no-humanos deja entrever la centralidad de estos lazos para sus vidas. Las causas
posibles de una enfermedad, de una malformación, de una expresión de locura o de un
desengaño amoroso, remitían generalmente a la intencionalidad y agencia de seres que
solemos calificar de criaturas imaginarias, proyecciones o expresiones simbólicas de los
hombres; únicos poseedores de cualidades de interioridad. Para los qom, como para
otros pueblos amerindios, estas entidades se presentan, según el contexto y las
interacciones entabladas, como sujetos sintientes, conscientes y activos interlocutores
de un sistema de comunicación.4
5 En este artículo me propongo explorar los efectos de los seres no-humanos en la
historia, el entorno y el cuerpo de este pueblo indígena sudamericano. Para eso, me
referiré a relatos antiguos sobre la conquista de sus territorios en los que el accionar de
estos seres (fenómenos atmosféricos, muertos, dueños de animales, pájaros) incidió en
el devenir de los qom y en sus desplazamientos, huyendo de los frentes de conquista y
colonización comenzadas a finales del siglo XIX. Luego, mostraré que el entorno – lejos
de ser un espacio neutro que provee recursos naturales a los cazadores y además de ser
un espacio vivido y cargado de agencia – presenta determinadas características que son
leídas como las huellas que en él dejan los seres no-humanos. Por último, expondré
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
189
algunas situaciones de la vida cotidiana que dan cuenta de los efectos de las
intencionalidades y agencias “otras” sobre el cuerpo de los humanos.
6 No es mi intención introducir los conceptos y las categorías antropológicas que irán
surgiendo a lo largo de este trabajo y con las cuales dialogaré, ya que mi propuesta
consiste en que los datos etnográficos sean los que orienten el debate y dicten, ellos, los
términos de su propio análisis. A pesar de esto, cabe aclarar que, sin lugar a dudas, mi
perspectiva se halla inserta en un conjunto de propuestas antropológicas que han
nutrido no solo mi lectura de los hechos descritos, sino la posibilidad misma de
observarlos y registrarlos. Ahora bien, no intento con este texto otorgarle autoridad
epistémica a los autores con los cuales dialogo, sino más bien intentar simetrizar
antropologías al reconocer que “los ‘Otros’ también hacen antropología y que sus
teorías son equivalentes a las nuestras” (Cayón 2018: 36). Este texto no pretende ser
más que un aporte a la antropología que, más que interpretar el mundo de los “otros”,
intenta dejarles una vía de escape (Holbraad, Pedersen y Castro 2014); más que definir,
“infinir”… (Holbraad and Pedersen 2017).
Historicidad humana y no-humana
7 El Gran Chaco constituye el tercer gran territorio biogeográfico y morfoestructural de
América Latina después del Amazonas y el Sistema Sabánico Sudamericano, y el
segundo en superficie cubierta por bosques después de las selvas pluviales tropicales
del Amazonas y del Pacífico colombo-ecuatorianas. Ocupa más de 1.000.000 km 2 y se
extiende a lo largo de cuatro países (Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil), siendo el
área desplegada en Argentina la más extensa (Morello, Rodríguez y Silva 2009). En esta
región viven individuos pertenecientes a 24 pueblos indígenas que hablan lenguas
agrupadas en seis familias lingüísticas: guaycurú (toba/qom, pilagá, toba-pilagá, mocoví
y caduveo/eyiguayegui 5 ), mataco-mataguaya (mataco/wichí, chulupi/nivaklé,
chorote/manjui y maká), tupi-guaraní (chiriguano/avá, guaraní ñandeva/tapiete,
chané, isoseño/guaraní y guaraní occidental), enlhet-enenlhet (enxet/lengua sur,
enlhet/lengua norte, angaité, sanapaná, guaná y toba-maskoy/enenlhet), 6 lule-vilela
(vilela/chunupí) y zamuco (chamacoco/ishir ebidoso, chamacoco/ishir tomaraho y
ayoreo).7 Tradicionalmente, los pueblos chaqueños tenían una tradición cazadora-
recolectora, se organizaban en lo que la literatura etnográfica denomina “bandas” y
“tribus” y existían diversos subgrupos dentro de un mismo grupo étnico (Braunstein
1983). Con la ocupación de los territorios del Chaco argentino por las fuerzas militares a
finales de 1800 y tras la colonización, los indígenas fueron violentamente forzados a
instalarse de forma sedentaria en comunidades agrícolas y a trabajar en obrajes
madereros e ingenios azucareros.8 En 1911 se llevó a cabo la campaña militar de
Rostagno, que restableció definitivamente la línea de fortines sobre el Bermejo y
permitió que en 1915 se concluyera la misión de las fuerzas militares de ocupación
(Altamirano, Sbardella y Dellamea de Prieto 1987).
8 En la segunda y tercera década del siglo XX emergieron movimientos indígenas,
algunos de los cuales tuvieron características mesiánicas (Cordeu y Siffredi 1971) que
contrarrestaron la ocupación acelerada de las tierras y las desfavorables condiciones de
trabajo a las que eran sometidos los indígenas. A principios del siglo XX se crearon
misiones religiosas y reservas estatales con miras a sedentarizarlos, enseñarles labores
agrícolas y transformarlos en mano de obra barata para los asentamientos de colonos y
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
190
estancias.9 A partir de 1940 comenzó, en el Chaco argentino, un proceso de
evangelización y fundación de misiones. Evangelio es la forma en la que los qom
denominan a esta expresión religiosa que conjuga elementos del cristianismo
pentecostal con aspectos de la cosmología y del chamanismo indígena (Miller 1979;
Wright 1992; Ceriani Cernadas 2017). La labor de todos ellos fue central en la
sedentarización de los indígenas: los misioneros impulsaron el desarrollo de la
agricultura y la economía familiar y fundaron colonias agrícolas en las márgenes de los
territorios colonizados. A partir de la acción de los misioneros, fueron surgiendo por
todo el Chaco argentino iglesias indígenas alrededor de líderes indígenas que se
convirtieron en pastores.
9 Varios especialistas coinciden en que la ubicación actual de los qom es resultado del
avance de las tropas desde el este de Formosa. Tras los sucesivos ataques militares, la
penetración ganadera, la reducción de los espacios vitales y la explotación a la que eran
sometidos los indígenas chaqueños en los ingenios y obrajes, comenzó hacia 1920 un
período de proliferación de evangelizadores y misiones (Miller 1979; Wright 1992,
2008). Así, la sedentarización de estos cazadores-recolectores se fue produciendo no
solo alrededor de colonias agrícolas situadas en las márgenes de los territorios
colonizados por los criollos para la explotación agrícola y algodonera, sino también en
torno a las misiones que impulsaban el desarrollo de la agricultura. Si bien las misiones
crearon lugares de refugio y salvaguarda para los indígenas, también conllevaron
tensiones y formas de violencia (Miller 1979; Wright 2008; Ceriani Cernadas y Lavazza
2013).
10 Hoy en día, los tobas, cuya población ronda en las 126.000 personas, 10 viven en
comunidades rurales en el Gran Chaco o en barrios ubicados en los márgenes de
grandes urbes (Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Resistencia, Formosa). Los que aún
residen en regiones de su antiguo territorio no viven exclusivamente del monte y sus
recursos, ya que la expoliación territorial, la sedentarización y la colonización
condicionaron su acceso a los antiguos lugares de caza, pesca o recolección.
Recientemente, diversos procesos reivindicativos determinaron que los indígenas
renovaran sus reclamos por estos territorios que antiguamente se articulaban entre sí a
través de recorridos estacionales.
11 La campaña militar del Gran Chaco y la sucesión de acontecimientos durante la misma
es recordada por numerosos ancianos que refieren a ella como “La Guerra”. Durante
La Guerra, varios indígenas fueron hechos cautivos, asesinados, torturados o
trasladados lejos de sus territorios con el fin de ser utilizados para trabajos domésticos
y mano de obra esclava. Lo vivido durante La Guerra emprendida por los huataxanaqpi
(“militares”, “policías”) contra los indígenas fue trasmitido de generación en
generación hasta el día de hoy. Numerosos adultos refieren en la actualidad
acontecimientos que sus antepasados les contaron por haberlos vivido o por haberlos
escuchado de otros. A lo largo de la zona central del Chaco argentino he podido
registrar entre 2008 y la actualidad algunos de estos relatos y reconstruir así las
vivencias de algunos subgrupos que poblaban la región en los años previos e
inmediatamente posteriores a la Conquista. Gran parte de estas historias describe la
violencia ejercida por los militares, el modo en que fueron asesinados, privados de sus
tierras, robados sus niños y violadas sus mujeres.11
12 En este punto, cabe aclarar que nos diferenciamos de las perspectivas que en el Gran
Chaco se interesaron por analizar tanto la influencia del capitalismo en los pueblos
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
191
indígenas (N. Iñigo Carrera 1979, 1983; Trinchero, Piccinini y Gordillo 1992; Gordillo
2004, 2006, 2010; Renshaw 2002), como la historia de las relaciones interétnicas a partir
de una perspectiva del Estado y de la Historia (V. Iñigo Carrera 2008; Cardin 2009, 2013).
En las últimas décadas, la antropología de la región renovó el interés por las
dimensiones históricas de las sociedades indígenas y por las investigaciones
etnohistóricas,12 y se interesó también por las luchas reivindicativas de la identidad y el
territorio, dando cuenta del rol activo de los indígenas en ellas (Carrasco 2009;
Salamanca 2011). Asimismo, la etnografía chaqueña clásica y contemporánea hace
referencia a las entidades no-humanas en diversos momentos y prácticas a lo largo del
devenir histórico regional (en las guerras, la Conquista, la evangelización, los obrajes, el
chamanismo y en la cacería).13 A pesar de algunas excepciones (Wright 2002, 2008),
varios de estos trabajos tomaron a las personas no-humanas como deidades o teofanías
de una religión chamánica o parte del telón de fondo sobre el que los protagonistas
centrales de la historia regional (indígenas, militares, misioneros y colonizadores)
llevaban adelante sus interacciones. Si bien la presencia no-humana se encuentra
referida en gran parte de la literatura regional, el presente artículo se propone mostrar
que estas entidades no fueron exclusivamente parte de un telón de fondo, sino que,
desde el punto de vista indígena, ellas ocuparon y ocupan una posición central, activa,
actante e intencional en la manera en que los qom modularon, relatan y viven el paso
del tiempo y su historicidad.
13 Por otro lado, la “memoria histórica” de los qom no se reduce a las relaciones que ellos
o sus antepasados sostuvieron con la sociedad no-indígena en diversos momentos de
sus interacciones.14 Su historia no es solo “la historia de los pueblos indígenas” luego de
su vinculación con los agentes que permitieron la formación del Estado. Su “historia
indígena” guarda relación con la modalidad narrativa propia de esta sociedad indígena,
en la que no se disocian ni los hechos sucedidos durante la Conquista y colonización de
aquellos ocurridos en los primeros tiempos (“los tiempos de los antiguos”), ni el
accionar de los sujetos humanos del de otras entidades que también son pensadas como
sujetos. Los relatos que describen momentos traumáticos para los indígenas están
también plagados de seres no-humanos que desempeñaron un papel crucial en el
devenir histórico qom. Muchas narraciones describen el modo en que los indígenas
lograron escapar y vencer gracias a la comunicación entablada con entidades que los
socorrieron y se aliaron con ellos en contra de sus enemigos.
14 Dentro del repertorio del arte verbal qom, tal como el trabajo de los lingüistas da cuenta
(Messineo 2003, 2014), tanto las historias míticas como los relatos históricos forman
parte del género narrativo, cuyos relatos fueron transmitidos oralmente de generación
en generación. En palabras de la autora:
“La narrativa constituye una práctica comunicativa relevante en la vida social de
los tobas. La tipología de relatos que incluye narraciones míticas, cuentos
humorísticos del zorro, historias de vida y crónicas de sucesos históricos, entre
otras, provee un amplio panorama respecto de la historia, la cosmovisión, la
ecología, las relaciones sociales y las normas éticas y morales del grupo” (Messineo
2003: 200).
15 La autora continúa diciendo que “todas las narraciones – sean míticas, históricas o
personales – presentan una estructura discursiva casi idéntica y utilizan recursos
retóricos y morfosintácticos similares” (Messineo 2003: 201). Tal como se aprecia en los
relatos que hemos registrado, los sucesos que narran varios relatos “históricos” de los
qom están insertos en una socio-cosmología y en una ontología que tienen implícitas
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
192
una noción particular de agencia, de transformación y de persona: gran parte de ellos
entrelaza el accionar de los caciques memorables y las batallas con el ejército, con el
obrar de entidades que son consideradas personas capaces de incidir en la vida de los
seres humanos, en el transcurso de la historia y en el mundo. Lo relatado por los
ancianos, que recuerdan lo que sus padres y abuelos les contaron, sobre la conquista no
se limita a las atrocidades cometidas por el ejército o a las hazañas y estrategias de
líderes y guerreros indígenas, sino que describe los poderes y las visiones de chamanes,
animales, pájaros, muertos y dueños de animales.15 Como refieren Fausto y
Heckenberger para la Amazonía, la “historia indígena” es “el resultado de interacciones
sociocósmicas entre diferentes tipos de personas, humanas y no-humanas […]” (2007: 14,
subrayado nuestro). Si bien entendemos que lo social y lo cósmico no se hallan
diferenciados en la ontología qom, pues todas las entidades del cosmos poseen una
existencia social, consideramos pertinente esta aseveración que, aunque provenga de
otra zona de las tierras bajas sudamericanas, nos permite ampliar el foco de nuestro
análisis y contemplar que, entre otros pueblos indígenas sudamericanos, la historia fue
también estudiada como la consecuencia del accionar intencional de personas no solo
humanas.
16 Veamos algunos relatos o fragmentos de historias.16 Según lo relatado por el anciano
qom Rachiyi, ya fallecido, a su nieto Valentín Suarez – líder actual de la zona central de
Formosa –, toda su “raza” (subgrupo) se salvó gracias al accionar de una mujer que
podía comunicarse con el sapo. Cuando Rachiyi era niño, el ejército hizo subir a
mujeres y niños a un barco para ser trasladados por el río Bermejo y los hombres eran
conducidos por la costa del río a la vera de la embarcación, custodiados por un militar.
Según Rachiyi, los indígenas caminaron durante varios días hasta llegar a un “campo de
concentración” – en palabras de Valentín – situado a orillas del río y denominado en
toba Qaiuaxa’añi. Este lugar es ubicado por los ancianos cerca del actual emplazamiento
de El Espinillo y su nombre hace referencia a los palos clavados en el suelo donde los
cautivos fueron amarrados luego de padecer hambre, sed y maltratos corporales. Esta
situación cambió gracias a una mujer que era una reconocida conaxanaxae; término que
si bien suele ser traducido como “bruja”, remite más particularmente a la “agarradora”
(aquella que realiza la acción referida por la raíz verbal –cona-: “agarrar”). 17 En el relato
de Valentín, la conaxanaxae sugirió a los qom que juntaran las colillas de los cigarrillos
que fumaban los militares. Los qom así hicieron y, una vez reunidas las colillas, en
palabras de Valentín,
“[se] las dieron a ella. Después, un momento hubo en la noche que descansaban los
soldados y ellos [los qom] tuvieron la libertad de hacer un fuego. Y ella le dice a la
gente que haga fuego y, en ese momento, apareció un sapo, un sapo grande,
gigante. Ese sapo trabajaba con ella. Lo agarró […] y las colillas de cigarrillo metió
en la boca de ese sapo […]. O sea que le metió en la boca hasta que todo se fue a la
panza del sapo. Y […] ella decía que iba a tirar al fuego a ese sapo con todas las
colillas de cigarrillo [adentro]. Después dice ella: ‘si se revienta el sapo [es] porque
algo va a ocurrir’, venganza hacia los soldados, hacía los que fumaban esos
cigarrillos”.
17 El sapo reventó y la venganza fue exitosa: al día siguiente, los soldados comenzaron a
sentir malestar, dolores, estados de somnolencia y decaimiento generalizado. Por la
noche, con la tropa devastada por los efectos de la acción de la venganza, los qom
lograron escapar y regresar a sus lugares de origen. La conaxanaxae, el fuego y el sapo
son los actores que, en este episodio, cambiaron el rumbo de la historia de los qom.
Tanto esta mujer con poderes de comunicación con otras entidades, como el fuego y el
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
193
sapo fueron necesarios para derrotar al ejército y para que los qom continuaran con
vida.
18 Varios son los relatos como este que dan cuenta del modo en que los no-humanos
incidieron en el devenir de la historicidad chaqueña, al ayudar, aliarse, aconsejar u
orientar a los tobas que eran perseguidos. Esto se lee también en otra narración que
refiere a este mismo período y que nos fue relatada por un anciano de la comunidad
Dañalec lachiugue (Riacho de Oro). En ella, se escucha acerca del modo en que varias
mujeres tobas, capturadas por el ejército, emprendieron la huida ayudadas por un ser
del cielo. Según refiere el narrador, una anciana y cinco jóvenes que se habían alejado
de la comunidad para recolectar frutos de algarroba (Prosopis spp.) desaparecieron.
Luego, se supo que habían sido secuestradas por los militares quienes las hicieron
cautivas, las maniataron y las condujeron a pie hacia el sur. Los militares, montados en
burros o a caballo, las obligaron a marchar “tres qa’agoxoic [lunas]” 18 hasta llegar a un
nuevo “campo de concentración”. Cuando arribaron, allí había una construcción de
madera y un cepo en el que las prisioneras fueron amarradas. Sin embargo, una de las
jóvenes tenía la capacidad de “comunicación con Qasoxonaxa”, tal como dice su
narrador, y gracias a esta relación la historia pudo ser contada. Qasoxonaxa es el nombre
que se le da a un ser no-humano del cielo que tiene la capacidad de controlar los
fenómenos climáticos, principalmente, la lluvia, el trueno y el rayo. Una mañana, esta
joven recibió un mensaje de esta entidad en el que le comunicaba que esa noche debían
escapar. Según lo referido a nuestra compañera de trabajo de campo, Celeste Medrano:
“Dice que llegó esa noche se armó la lluvia. Los militares estaban refugiados adentro
de los buenos edificios y ellas en el campo de concentración. Cuando llovió mucho,
los rayos caían y se aflojaron los postes. Había una abertura por la que ellas podían
salir y escapar. Van dirigidas hacia el norte. Y la viejita, la anciana se quedó [por no
poder emprender el camino de regreso]. Y bueno, caminaron meses y meses de
noche en la selva, en el campo, en el monte. Las mujeres se subían a los árboles
porque había mucho tigre en ese entonces. […] Pasaron tres qa’agoxoi otra vez y
ellas pudieron llegar al lugar de destino.” [comunicación personal]
19 Esta capacidad de relacionarse con animales, plantas y fenómenos atmosféricos que
“agarradoras” y otras personas tenían en el pasado era también un atributo propio de
los antiguos líderes denominados oiquiaxai. Estos eran jefes en las épocas de guerra y
desempeñaron un papel protagónico durante la Conquista militar. Según Miller, los
oiquiaxai eran “personas con poderes excepcionales para comunicarse con los espíritus
de los muertos poderosos” (1979: 103). En efecto, gracias a los diálogos de los oiquiaxai
con los pájaros y los astros (no solo con los muertos), ellos lograron, en palabras de un
líder qom, conducir “a la tribu en tiempos de guerra”.
20 En diversos momentos de la historia chaqueña, militares e indígenas fueron activos
protagonistas que, luchando, resistiendo o atacando, dieron lugar al panorama étnico,
histórico y territorial contemporáneo. Sin embargo, ellos no fueron los únicos actores
de esta historia. En momentos particulares como las insurrecciones, las huidas, las
relocalizaciones o el cautiverio, los seres no-humanos desempeñaron un papel que los
mismos tobas resaltan en la mayoría de sus relatos sobre este período. Dueños de
animales, astros, sapos, aves y fuego son algunos de los personajes de dichas
narraciones que constituyen el ensamblaje humano-no-humano que compone la vida
en común para los qom: una vida en común que se desenvuelve en un entorno modelado
topográficamente también por estos seres no-humanos.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
194
Huellas en el entorno
21 Las acciones pasadas y actuales de los no-humanos dejan trazos en el “monte”
(término genérico con el cual se refieren al bosque chaqueño), ya sea como fruto de su
interacción con los humanos, ya sea como consecuencia de sus acciones,
independientes de los humanos. En el monte, por ejemplo, es factible encontrar piedras
negras de la época antigua (mítica, diríamos nosotros) en la que por la tierra pasó el
gran fuego (norecalo),19 montículos de tierra debajo de los cuales vive el padre de las
víboras (qomonaxalo), que se enoja cada vez que huele sangre menstrual y hongos, que
son en realidad el excremento de la dueña del rayo, representada como un elefante
(qasoxonaxa). Se hallan también zonas con abundantes bromelias que esconden la
morada subterránea de pequeñas mujeres del monte, llamadas huashole’, y caracoles
rotos que son la piel abandonada de la dueña de las víboras (’araxanaq late’e). Asimismo,
es posible oír a los diversos seres no-humanos en su despliegue por el monte y por las
comunidades. Los muertos y los habitantes de abajo del agua se hacen oír cada vez que
lavan sus ollas, que ríen o que usan los objetos de los vivos presentes en sus viviendas.
22 Además de estos signos visibles y audibles de entidades otras, la extensa toponimia
chaqueña muestra también los efectos de los seres no-humanos en la geografía qom.
Varios autores han demostrado a partir de sus etnografías en el Gran Chaco y en otras
latitudes 20 que en las sociedades cazadoras-recolectoras el territorio es nombrado en
función de las características topográficas y de aquellas que remiten a la presencia de
especies animales y vegetales, así como de los acontecimientos que fueron
significativos en la historia de los grupos que crean y transmiten los topónimos. De
hecho, los nombres de los lugares y las historias que los fueron constituyendo son
transmitidos de generación en generación estableciéndose, de este modo,
continuidades entre los acontecimientos vividos por los antepasados y la identidad y las
prácticas de los grupos actuales. En su trabajo sobre las denominaciones toponímicas y
etnonímicas de los tobas, la lingüista argentina Marisa Censabella refiere que los
topónimos de este grupo están mayoritariamente formados por “un nombre derivado,
un nombre compuesto o un sintagma nominal” (2009: 224). A partir de un análisis
lexical y morfológico, Censabella organiza los topónimos obtenidos tanto de fuentes
escritas desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XX, como de sus
informantes del noreste de la provincia de Chaco, de la siguiente manera: (a) lugares
tradicionales de asentamiento (lagunas y esteros); (b) enclaves donde los “nuevos toba”
se relocalizaron entre finales del siglo XIX y primeras décadas del XX; (c) lugares cuyo
nombre remite a las características topográficas (lugares de paso o ríos); (d) cotos de
caza; (e) lugares de paso y en los que ocurrieron “hechos históricos o hechos de
carácter sobrenatural” (Censabella 2009: 228). Contrariamente a los anteriores, estos
últimos requieren – según la autora – una contextualización por parte de los
narradores, ya que su nombre no suele ser transparente. Esta sistematización se
asemeja a la ya propuesta por los antropólogos argentinos Analía Fernández y José
Braunstein (2001) para los tobas de Pampa del Indio (provincia de Chaco). 21
23 Al recordar el pasado de su subgrupo, los ancianos con quienes trabajé refieren a una
gran variedad de nombres de lugares por los que transitaban y en donde residían sus
antepasados. Muchos de estos nombres reflejan los conocimientos ecológicos de los
tobas – huoiem lae’ (donde abunda el mono); qarol lae’ (donde abunda el bagre); relliquic
lapel (laguna de palo santo); euaxai lamo (nacimiento del [río] salado) –. Otros nombres
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
195
remiten a hechos particulares vividos por algún miembro del grupo – Chingolo lche’ (la
pierna de Chingolo) refiere a la historia del pescador llamado Chingolo a quién un pez
de esa laguna le mordió la pierna; araxanaxaqui (mortero), allí donde antiguamente las
mujeres toba se juntaban a macerar frutos con sus morteros –. Otros nombres
condensan historias vividas por los antiguos antes, durante y después de los
enfrentamientos con el ejército por los años de la conquista chaqueña: Roqshe nalleuo (el
blanco miró), por ejemplo, alude a la llegada del ejército al estero donde se encontraba
el campamento; ’eraxai (luciérnaga) designa un monte tupido al que llegaron los toba
que escapaban del ejército y que iluminaban el camino con estos insectos. Qo’oxoi es el
nombre de otro sitio cuya historia consiste en que durante la conquista del Chaco un
chamán fue advertido por su compañero no-humano de cavar una zanja para esconder
a su grupo. Sin embargo, el ejército los encontró y los fusiló a todos. Finalmente, otro
conjunto importante de nombres refiere a las acciones de seres no-humanos que
incidieron en la vida y permanencia de los tobas en ese lugar. Este es el caso de lashe
n’naxaganaxaqui (laguna del bicho del agua), en la que ocurrió una catástrofe luego de
que una joven que menstruaba se acercó a la laguna, enojando así a las personas no-
humanas, que sienten repulsión por el olor de la sangre menstrual. La historia de
huoqauo’ lae’ tiene como protagonistas ya no al ejército ni a los qom, sino a pájaros-
personas que, sintiendo compasión de los humanos, le avisaron al chamán del grupo
que en la laguna donde ellos estaban podían encontrar abundantes peces. Tal como
estos pocos ejemplos muestran y la abundante bibliografía demuestra, la extensa
toponimia chaqueña es un libro escrito en el territorio que cuenta sobre hechos
significativos del pasado de cada subgrupo, del entramado de las relaciones parentales,
así como de las relaciones con los seres no-humanos.
Influencias en el cuerpo: reflexiones finales sobre la
ontología qom
24 En las manifestaciones corporales que la persona va adoptando a lo largo de su vida
juega un papel central la agencia, no solo de los seres humanos, sino también de los no-
humanos. El cuerpo-persona es susceptible de transformarse a raíz de la acción de
entidades no-humanas que dejan marcas en él e inciden en su apariencia. Una persona-
cuerpo puede combinar elementos y aptitudes tanto humanas como no-humanas, ya
que, tal como desarrollamos en trabajos previos (Tola 2012), el cuerpo no contiene
siempre a los elementos que hacen a la persona ni las personas están contenidas
exclusivamente dentro del cuerpo. Existen, de hecho, componentes (fluidos corporales,
nombres, sombra, etc.) que pueden desterritorializarse; alejarse momentáneamente del
cuerpo y permitir la fusión de cuerpos-personas humanas y no-humanas. 22 Nauoxa es el
término que sintetiza las consecuencias que padece la persona-cuerpo humana al no
respetar las reglas de comportamiento que rigen las relaciones con los no-humanos en
momentos especiales de la formación y transformación del cuerpo. Algunos qom
traducen nauoxa (-uoxa: raíz del verbo “hacer mal”) como “contagio”, en su intento por
referirse al proceso de transmisión de las características formales o de comportamiento
entre entidades diversas. Un toba tradujo este término como “imitación”, refiriéndose a
la semejanza entre la entidad humana y la no-humana luego de un momento de
cercanía excesiva entre ambos. Y otro joven, intentando transmitir la amplitud del
fenómeno nauoxa, utilizó el término “influencia”. La idea de la influencia da más cuenta
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
196
del proceso implicado. Según su reflexión, “influencia” remite al proceso que se lleva a
cabo entre dos seres que “cruzaron sus caminos” y que se dejaron una huella en su
constitución corporal-vital. Esta huella es vivida como una influencia susceptible de
transformar el régimen corporal, los comportamientos y la personalidad de las dos
personas implicadas.
25 Trataremos de ilustrar esto con una anécdota ocurrida durante los comienzos de mi
trabajo de campo. Junto con una colega que trabajaba en el barrio toba, fuimos a visitar
a una joven que, luego de intercambiar algunas palabras, nos expresó su angustia por el
estado de salud de su hijo, que había amanecido con decaimiento y manchas negras que
ella atribuía a la acción de ciertas entidades no-humanas: los pel’ec (personas de la
noche). Al tocar el cuerpo humano, estas personas no-humanas dejan manchas del
mismo color del cuerpo que ellos tienen. Asimismo, los pel’ec son susceptibles de obrar
de acuerdo a lo que los chamanes les piden y atacar a quien le indiquen. Comencé a
hablar con la mujer sobre la dolencia de su hijo, sobre las posibles personas que
desearían lastimarla, sobre el hecho de que los chamanes atacan a los más vulnerables y
sobre las características corporales de los pel’ec. Al salir de allí, mi colega, que había
estado en silencio durante toda la conversación, me preguntó cómo podía mantener ese
diálogo con la mujer toba acerca de temas en los que seguramente yo no creía. Le
contesté que, en mi opinión, no se trataba de creer o no en los pel’ec o en los ataques
chamánicos, sino en mantener con mis interlocutores una conversación sobre los temas
y problemas que para ellos eran importantes en sus vidas; en síntesis, poder crear una
relación a pesar de las diferencias que nos atraviesan, diferencias que no me interesaba
minimizar en pos de una búsqueda pseudo-antidiscriminatoria de los elementos que
nos vuelven semejantes, que nos acercan como seres humanos o que hacen de los
“otros” un nosotros. Sin embargo, mi preocupación por la alteridad no constituía
tampoco una búsqueda en los escombros de una cosmología perdida, de una manera ya
inexistente de vivir o de una ontología que solo los chamanes conocen. Si bien los
chamanes tobas poseen capacidades de metamorfosis, de desplazamiento y de
comunicación con seres no-humanos y son, a su vez, capaces de relatar sus vivencias en
otros mundos a los seres humanos, ciertas capacidades (como aquella de percepción
cambiante, de soñar, de ser afectado por un no-humano o de afectar a otros seres con el
pensamiento y la simple intencionalidad) no son exclusivas de ellos y pueden ser
consideradas como potencialidades de todos los seres humanos. A nuestro entender, el
principio de transformación de la realidad y de la percepción cambiante de todo ser
considerado persona constituyen pilares de una filosofía no-esencialista en la que el
mundo y sus singularidades presentan potencialidades metamórficas, perceptibles para
los otros, según los contextos de comunicación e interacción. 23
26 Ahora bien, la pregunta por la creencia y la honestidad de nuestro posicionamiento en
el trabajo de campo, ante aquello que contrasta con nuestras propias “creencias”, no
era una pregunta insignificante. Si bien mi respuesta me permitía continuar con mi
trabajo, sin duda era una pregunta que me confrontaba con una de las consecuencias
ontológicas de la confrontación con la alteridad. “Tomar en serio” lo que los qom dicen
sobre los seres no-humanos que, tras su accionar, inciden en la forma y características
del cuerpo-persona y el entorno, y que definen también la historicidad de los pueblos
indígenas, significa no tanto creer en el universo en el que los tobas – más que creer –
están inmersos, sino tomarlo como otro mundo posible.24 Para acceder a él, situaciones
como la descrita son la vía de acceso a la ontología de otros colectivos, entendiendo por
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
197
ontología los principios que subyacen a las maneras de imaginar un mundo, sus
constituyentes y las relaciones entre estos (cf. Descola 2005, 2014), más que las
representaciones, cosmovisiones o creencias que los “otros” poseen.
27 Tomamos la definición de ontología de los desarrollos de la antropología americanista
(más que nada francesa y brasileña) de los últimos 30 años. Esta elección no desconoce
la existencia de una antropología chaqueña que, desde los años 60, tiene a la ontología,
a la mitología y a la religión como sus pilares centrales de indagación (cf. Bórmida 1969,
1973, 1974, 1975, 1976; Wright 2008). Sin embargo, no adherimos ni a la perspectiva de
Bórmida sobre la ontología, en la que mito-rito funcionarían como el lugar primordial
del estudio de una cultura y de la acción humana, ni a la idea de que la ontología sea, en
el caso de los pueblos indígenas, “la inquisición acerca de la naturaleza de la realidad”
(Wright 2008: 33). En el Chaco paraguayo, quizás sean las investigaciones sobre
ontología, política y no-humanidad de Blaser (2009, 2013, 2016) las que resuenen más
con nuestra propuesta. Su perspectiva abreva tanto de la antropología francesa y
brasileña como de aquella norteamericana. En sus diversos trabajos, Blaser define
“ontología” como el inventario de tipos de seres y sus relaciones posibles, expresa la
centralidad de las prácticas que involucran a humanos y a no-humanos, y se interesa
por las narraciones de sus interlocutores ishir, pues en ellas se establece lo que existe y
las relaciones. Este antropólogo argentino radicado en Canadá sostiene también la
centralidad de “tomar en serio” a los no-humanos y dejar de considerarlos como
metáforas de otras realidades. Su interés por la ontología lo condujo a una
preocupación política y a centrarse en lo que él define como “ontología política”. En la
medida en que los mundos son siempre el ensamblaje heterogéneo de humanos y no-
humanos, Blaser se pregunta: ¿qué es la política en estos ensamblajes que rompen con
las dicotomías a las que estamos acostumbrados? Retoma la proposición cosmopolítica
de Isabelle Stengers (2005) y expresa que, cuando los no-humanos no son concebidos
como fruto de la imaginación, ellos entran en la escena política de nuestros
interlocutores y, desde este punto de vista, ameritan ser tomados en serio. Blaser
retoma la propuesta de Descola precisamente porque el antropólogo francés muestra la
existencia de múltiples ontologías y porque da cuenta de que la ontología moderna es
una entre otras que distribuye lo que existe de una forma diferente. Su interés será
abordar este pluralismo ontológico desde los conflictos medioambientales, que serán
leídos como verdaderos conflictos ontológicos ya que activan diversas formas de
enactuar el mundo.
28 Ahora bien, cabe aclarar que el giro ontológico en antropología no constituye una
corriente homogénea ni todos los antropólogos adoptan, en esta tendencia, una misma
definición de ontología. Sin embargo, a pesar de las variaciones, varios de los trabajos
de esta línea con los cuales decidimos dialogar se interesan por incorporar a más que
humanos (more than human), no-humanos, híbridos y transespecies, en una tendencia
que ha sido considerada posthumanista (cf. Kohn 2012, 2013). De hecho, el
cuestionamiento de la “gran división” como matriz universal y las etnografías que
mostraron el papel central de la relación con los no-humanos en otras maneras de
componer el mundo dieron lugar a lo que Latour (2012) llama “naturalizaciones
alternativas”, es decir, modos de concebir la naturaleza que no la reducen a su relación
con los humanos, ni la explican necesariamente en términos antropomórficos.
29 Situaciones como las que describimos a lo largo de este texto son lo que Viveiros de
Castro (2004) define como misundestandings, o equívocos, en el sentido de una falla en
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
198
entender que las undestandings, o comprensiones, no son iguales y que no están
relacionadas con formas imaginarias de ver el mundo, sino – como expresa también
Blaser – con los mundos reales que son percibidos por diversos colectivos. En palabras
de M. Herzfeld: “anthropology is about misunderstandings” (Herzfeld 2001: 2, citado en
Castro 2004: 10). Estas ideas antropológicas se anclan sin duda en el perspectivismo y el
multinaturalismo amerindio, teorías que postulan que el mundo está compuesto por un
conjunto de elementos cuya naturaleza varía de acuerdo al punto de vista del sujeto
que percibe, punto de vista que se halla en el cuerpo (Castro 1996). Ya no se trataría de
representaciones variables de un único mundo, sino de mundos diferentes. Es decir,
todos los “existentes” perciben del mismo modo, o mediante las mismas categorías y
valores, y lo que varía es el correlato objetivo que ellos ven. 25 Caza, guerra, comida
fermentada, presas y predadores son las categorías de las que se sirven humanos y no-
humanos en gran parte de Amazonía, pero para unos la sangre es sangre y para otros es
miel, para unos un cadáver es un cadáver y para otros es mandioca fermentada.
Tomadas como método antropológico, estas ideas amazónicas acerca de múltiples
mundos a ser actualizados – más que un único mundo a ser objetivado por múltiples
interpretaciones (culturas) – permitirían un acercamiento a la alteridad entendida
como la expresión de puntos de vista plurales sobre mundos que también lo son
(cf. Castro 2004).
30 Ahora bien, ¿qué significa tomar la idea propia del perspectivismo sobre la existencia
de múltiples mundos como método antropológico? Tomada como método, la
equivocación controlada conceptualizada a partir del perspectivismo amerindio ayuda
a percibir las “falsas homonimias”, a no dejarse engañar por la semejanza aparente
entre nuestra “lengua” o aparato conceptual y el de los sujetos con quienes trabajamos.
Lejos de los “sinónimos transculturales” es preciso reconocer que nos encontramos
ante puntos de vista plurales sobre mundos plurales.
31 En síntesis, en este texto nos propusimos reflexionar sobre la idea de que la ontología
toba constituye una forma de percibir, de relacionarse y de actuar en el mundo (sin
duda mediante el lenguaje también), en el que diversos existentes no-humanos definen
el cuerpo-persona, el entorno y el accionar humano a lo largo del tiempo. En
determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, los seres humanos son capaces
de comunicarse con los no-humanos y de acceder a la condición de persona de estas
entidades, principalmente a través de los trazos dejados por ellas y de los mensajes, que
les trasmiten en sueños o mediante aves y otros animales, que los humanos descifran.
Es por eso que lejos de tratarse de una cuestión de fe o de una adhesión firme a
determinados dogmas, la ontología qom se basa en nociones aprendidas desde la
infancia, mediante prácticas discursivas, que expresan que los seres humanos no son
los únicos existentes dotados de vida social, cuerpo, intencionalidad e interioridad.
32 Visto de esta manera, las relaciones que se mantienen con estos otros seres sociales
(espíritus, muertos, dueños de animales, fenómenos atmosféricos), más que ser
catalogadas como creencias, metáforas, representaciones o nociones espirituales,
constituyen, a mi modo de ver, el sustrato mismo de experiencia y de la vida social qom.
Si un “análisis antropológico del pluralismo político es incompleto hasta que no
tomamos en serio la posibilidad de un pluralismo ontológico” (Di Giminiani 2013: 528,
traducción nuestra), la misma advertencia vale cuando intentamos mostrar el
pluralismo existente en las maneras de narrar el paso del tiempo, de abordar las
nociones de cuerpo-persona y de entorno.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
199
Receção da versão original / Original version
2017 / 05 / 03
Receção da versão revista / Revised version
2018 / 09 / 16
Aceitação / Accepted 2019 / 01 / 29
BIBLIOGRAFÍA
ALTAMIRANO, Marcos, Cirilo SBARDELLA, y Alba DELLAMEA DE PRIETO, 1987, Historia del Chaco.
Resistencia, Editorial Dione.
BALDUCCI, María Isabel, 1982, Códigos de Comunicación con el Mundo Animal entre los Toba-Taksik.
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, tesis de licenciatura
inédita.
BLASER, Mario, 2009, “Political ontology: cultural studies without ‘cultures’?”, Cultural Studies,
23 (5-6): 873-896.
BLASER, Mario, 2013, “Ontological conflicts and the stories of peoples in spite of Europe: toward a
conversation on political ontology”, Current Anthropology, 54 (5): 547-568.
BLASER, Mario, 2016, “Is another cosmopolitics possible?”, Cultural Anthropology, 31 (4): 545-570.
BÓRMIDA, Marcelo, 1969, “Mito y cultura”, Runa, 7: 9-52.
BÓRMIDA, Marcelo, 1973, “Ergon y mito 1: una hermenéutica de la cultura material de los Ayoreo
del Chaco Boreal”, Scripta Ethnologica, 1 (1): 9-68.
BÓRMIDA, Marcelo, 1974, “Ergon y mito 2”, Scripta Ethnologica, 2 (2): 41-107.
BÓRMIDA, Marcelo, 1975, “Ergon y mito 3”, Scripta Ethnologica, 3 (1): 73-130.
BÓRMIDA, Marcelo, 1976, “Ergon y mito 4”, Scripta Ethnologica, 4 (1): 29-44.
BRAUNSTEIN, José, 1983, “Algunos rasgos de la organización social de los indígenas del Gran
Chaco”, Trabajos de Etnología, 2: 9-102.
BRAUNSTEIN, José, 1993, “Territorio e historia de los narradores matacos”, Hacia Una Nueva Carta
Étnica del Gran Chaco, 5: 4-74.
BUCKWALTER, Alberto, y Lois Litwiller de BUCKWALTER, 2001, Vocabulario Toba. Elkhart e
Indiana, Equipo Menonita (edición revisada).
CARDIN, Lorena, 2009, “Antiguos reclamos – nuevas estrategias: el actual movimiento
sociopolítico toba en Colonia Aborigen La Primavera (Formosa)”, presentado en IV Congreso
Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural (Inta y Nadar). Mar del Plata, Argentina.
CARDIN, Lorena, 2013, “Construcciones en disputa de la identidad qom: la escenificación de las
diferencias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en F. Tola, C. Medrano y L. Cardin
(comps.), Gran Chaco: Ontologías, Poder, Afectividad. Buenos Aires, Rumbo Sur/Ethnographica/
IWIGIA, 361-383.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
200
CARRASCO, Morita, 2009, Tierras Duras: Historias, Organización y Lucha por el Territorio en el Chaco
Argentino. Buenos Aires, IWIGIA.
CASTRO, Eduardo Viveiros de, 1996, “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”,
Mana, 2 (2): 115-144.
CASTRO, Eduardo Viveiros de, 2004, “Perspectival anthropology and the method of controlled
equivocation”, Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America, 2 (1): 3-22.
CAYÓN, Luis, 2018, “Etnografía compartida: algunas reflexiones sobre el trabajo de campo con los
makuna en la Amazonía colombiana”, Anales de Antropología, 52 (1): 35-43.
CENSABELLA, Marisa, 1999, Las Lenguas Indígenas de la Argentina: Una Mirada Actual. Buenos Aires,
Eudeba.
CENSABELLA, Marisa, 2009, “Denominaciones etnonímicas y toponímicas tobas: introducción a la
problemática y análisis lingüístico”, Hacia Una Nueva Carta Étnica del Gran Chaco, 8: 213-236.
CERIANI CERNADAS, César, 2004, “Convirtiendo Lamanitas: indagaciones en el mormonismo
toba”, Alteridades, 12 (25): 121-137.
CERIANI CERNADAS, César, 2008a, Nuestros Hermanos Lamanitas: Indios y Fronteras en la Imaginación
Mormona. Buenos Aires, Biblos/Culturalia.
CERIANI CERNADAS, César, 2008b, “Vampiros en el Chaco: rumor, mito y drama entre los toba
orientales”, Indiana, 25: 27-50.
CERIANI CERNADAS, César, 2014, “Configuraciones de poder en el campo evangélico indígena del
Chaco argentino”, Sociedad y Religión, 41 (24): 13-42.
CERIANI CERNADAS, César, 2017, Los Evangelios Chaqueños: Misiones y Estrategias Indígenas en el
Siglo XX. Buenos Aires, Rumbo Sur/Ethnographica.
CERIANI CERNADAS, César, y Hugo LAVAZZA, 2013, “Fronteras, espacios y peligros en una misión
evangélica indígena en el Chaco argentino (1935-1962)”, Boletín Americanista, 2 (67): 143-162.
CITRO, Silvia, 2000, “El cuerpo de las creencias”, Suplemento Antropológico, 35 (2): 189-242.
CITRO, Silvia, 2009, Cuerpos Significantes: Travesías de Una Etnografía Dialéctica. Buenos Aires,
Biblos/Culturalia.
CITRO, Silvia, 2011, Cuerpos Plurales: Antropología de y desde los Cuerpos. Buenos Aires, Biblos/
Culturalia.
CORDEU, Edgardo, 1969-1970, “Aproximación al horizonte mítico de los tobas”, Runa, 12 (1-2):
67-176.
CORDEU, Edgardo, et al., s.d., Memorias Etnohistóricas del Gran Chaco, informe científico final del
Proyecto PICT-BID 98 4400, Buenos Aires.
CORDEU, Edgardo, y Alejandra SIFFREDI, 1971, De la Algarroba al Algodón: Movimientos Milenaristas
del Chaco Argentino. Buenos Aires, Juárez Editor.
CÓRDOBA, Lorena, Federico BOSSERT, y Nicolás RICHARD (comps.), 2015, Capitalismo en las Selvas:
Enclaves Industriales en el Chaco y Amazonía Indígenas (1850-1950). San Pedro de Atacama, Ediciones
del Desierto.
DESCOLA, Philippe, 1986, La nature domestique: Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar. París,
Maison des Sciences de l’Homme.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
201
DESCOLA, Philippe, 1996, “Constructing nature: symbolic ecology and social practice”, en
P. Descola y G. Pálsson (comps.), Nature and Society. Londres y Nueva York, Routledge.
DESCOLA, Philippe, 2005, Par-delà nature et culture. París, Gallimard.
DESCOLA, Philippe, 2014, La Composition des mondes: Entretiens avec Pierre Charbonnier. París,
Flammarion.
DESCOLA, Philippe, y Anne-Christine TAYLOR, 1993, “Introduction”, L’ Homme, XXXIII (2-4):
13-24.
DI GIMINIANI, Piergiorgio, 2013, “The contested rewe: sacred sites, misunderstandings, and
ontological pluralism in Mapuche land negotiations”, Journal of the Royal Anthropological Institute,
19: 527-544.
FAUSTO, Carlos, y Michael HECKENBERGER (comps.), 2007, Time and Memory in Indigenous
Amazonia: Anthropological Perspectives. Gainesville, University Press of Florida.
FERNÁNDEZ, Analía, y José BRAUNSTEIN, 2001, “Historias de Pampa del Indio”, en IV Congreso
Argentino de Americanistas, tomo 2. Buenos Aires, Dunken, 161-193.
GORDILLO, Gastón, 2004, Landscapes of Devils: Tensions of Place and Memory in the Argentinean Chaco.
Durham, Duke University Press.
GORDILLO, Gastón, 2005, Nosotros Vamos a Estar Acá para Siempre. Buenos Aires, Biblos.
GORDILLO, Gastón, 2006, En el Gran Chaco: Antropologías e Historias. Buenos Aires, Prometeo.
GORDILLO, Gastón, 2010, Lugares de Diablos: Tensiones del Espacio y la Memoria. Buenos Aires,
Prometeo.
GORDILLO, Gastón, y Juan LEGUIZAMÓN, 2002, El Río y la Frontera: Movilizaciones Aborígenes, Obras
Públicas y Mercosur en el Pilcomayo. Buenos Aires, Biblos.
GOW, Peter, 2001, An Amazonian Myth and Its History. Oxford, Oxford University Press.
HANKS, William F., e Carlo SEVERI (comps.), 2014, dossier “Translating worlds: the
epistemological space of translation”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, 4 (2).
HERZFELD, Mickael, 2001, “Orientations: anthropology as a practice of theory”, em M. Herzfeld
(org.), Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society. Londres, Blackwell//UNESCO, 1-20.
HILL, Jonathan (comp.), 1988, Rethinking History and Myth: Indigenous South American Perspectives on
the Past. Urbana, University of Illinois Press.
HOLBRAAD, Martin, y Morten PEDERSEN, 2017, The Ontological Turn. Cambridge, Cambridge
University Press.
HOLBRAAD, Martin, Morten PEDERSEN, y Eduardo Viveiros de CASTRO, 2014, “The politics of
ontology: anthropological positions”, Society for Cultural Anthropology, Editor’s Forum:
Theorizing the Contemporary, Fieldsites, http://culanth.org/fieldsights/462-the-politics-of-
ontology-anthropological-positions (última consulta en junio de 2019).
IDOYAGA MOLINA, Anatilde, 1992, “Significación y simbolismo acuático entre los pilagá”, Scripta
Ethnologica, 14: 7-13.
IDOYAGA MOLINA, Anatilde, 1994, “Representación de los seres míticos pilagá”, Scripta
Ethnologica, 16: 7-21.
IDOYAGA MOLINA, Anatilde, 2000, Chamanismo, Brujería y Poder en América Latina. Buenos Aires,
CAEA-Conicet.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
202
IÑIGO CARRERA, Nicolás, 1979, La Violencia como Potencia Económica: Chaco 1879-1940. Buenos Aires,
Centro Editor de América Latina.
IÑIGO CARRERA, Nicolás, 1983, La Colonización del Chaco. Buenos Aires, Centro Editor de América
Latina.
IÑIGO CARRERA, Valeria, 2008, Sujetos Productivos, Sujetos Políticos, Sujetos Indígenas: Las Formas de
Su Objetivación Mercantil entre los Tobas del Este de Formosa. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires, tesis doctoral.
KALISH, Hannes, y Ernesto UNRUH, 2004, “Enlhet-enenlhet: una familia lingüística chaqueña”,
Thule: Rivista di Studi Americanisti, 12-13: 207-231.
KARSTEN, Rafael, 1932, “Indian tribes of the Argentine and Bolivian Chaco”, Societas Scientiarum
Fennica, 4: 10-236.
KOHN, Eduardo, 2012, “Proposal 1: Anthropology beyond the human”, Cambridge Anthropology,
30 (2): 136-146.
KOHN, Eduardo, 2013, How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human. Los Angeles,
University of California Press.
LATOUR, Bruno, 1991, Nous n’avons jamais été modernes: Essais d’anthropologie symétrique. París,
Editions La Découverte.
LATOUR, Bruno, 2012, Enquête sur les modes d’existence: Une anthropologie des Modernes. París,
Editions La Découverte.
LOEWEN, Jakob, Albert BUCKWALTER, y James KRATZ, 1997 [1965], “Shamanism, illness and
power in Toba church life”, Practical Anthropology, 12: 250-280.
LÓPEZ, Alejandro, 2007, Astronomía, Identidad y Cambio en Comunidades Mocovíes del Chaco Argentino.
Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, tesis de
maestría.
LÓPEZ, Alejandro, 2013, “Las texturas del cielo: una aproximación a las topologías moqoit del
poder”, en F. Tola, C. Medrano y L. Cardin (comps.), Gran Chaco: Ontologías, Poder, Afectividad.
Buenos Aires, Rumbo Sur / Ethnographica/IWGIA, 103-131.
LÓPEZ, Alejandro, y Sixto GIMÉNEZ BENÍTEZ, 2008, “The Milky Way and its structuring functions
in the worldview of the Mocoví of Gran Chaco”, Archaeologia Baltica, 10: 21-24.
LÓPEZ, Alejandro, y Sixto GIMÉNEZ BENÍTEZ, 2009a, “Bienes europeos y poder entre los mocovíes
del Chaco argentino”, Archivos: Departamento de Antropología Cultural, 4-2006: 191-216.
LÓPEZ, Alejandro, y Sixto GIMÉNEZ BENÍTEZ, 2009b, “Monte, campo y pueblo: el espacio y la
definición de lo aborigen entre las comunidades mocovíes del Chaco argentino”, en N. Ellison y
M. Martínez Mauri (comps.), Paisaje, Espacio y Territorio: Reelaboraciones Simbólicas y
Reconstrucciones Identitarias en América Latina. Quito, Abya Yala, 163-179.
MARTÍNEZ CROVETTO, Raúl, 1975, “Folklore toba oriental II: relatos fantásticos de origen
chamánico”, Suplemento Antropológico, 10 (1-2): 177-205.
MEDRANO, Celeste, 2012, Zoo-Sociología Qom: De cómo los Tobas y los Animales Trazan sus Relaciones en
el Gran Chaco. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, tesis
doctoral.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
203
MEDRANO, Celeste, 2013, “Devenir-en-transformación: debates etnozoológicos en torno a la
metamorfosis animal entre los qom”, en F. Tola, C. Medrano y L. Cardin (comps.), Gran Chaco:
Ontología, Poder, Afectividad. Buenos Aires, IWGIA/Rumbo Sur/Ethnographica, 77-101.
MEDRANO, Celeste, Florencia TOLA, y Valentín SUAREZ, 2016, “La historia de los qom: una
historia no sólo humana. Regímenes de historicidad y territorio en el Chaco argentino”,
presentado en el Segundo Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos
XIX-XXI: Avances, Perspectivas y Retos, Santa Rosa (La Pampa), septiembre.
MESSINEO, Cristina, 2003, Lengua Toba (Guaycurú): Aspectos Gramaticales y Discursivos. Munich,
Lincom Europa.
MESSINEO, Cristina, 2014, Arte Verbal Qom: Consejos, Rogativas, Relatos. Buenos Aires, Rumbo
Sur / Ethnographica.
MÉTRAUX, Alfred, 1946, Myth of the Toba and Pilagá Indians of the Gran Chaco. Filadelfia, American
Folklore Society.
MÉTRAUX, Alfred, 1967, Religions et magies indiennes d’Amérique du Sud. París, Gallimard.
MILLER, Elmer, 1973, “The linguistic and ecological basis for Argentine Toba social categories”,
presentado en el Congress of ICAES, Chicago.
MILLER, Elmer, 1979, Los Tobas Argentinos: Armonía y Disonancia en Una Sociedad. México, DF,
Siglo XXI.
MORELLO, Jorge, Andrea RODRÍGUEZ, y Mariana SILVA, 2009, “Clasificación de ambientes en
áreas protegidas de las ecorregiones del Chaco húmedo y seco”, en J. Morello y A. Rodríguez
(comps.), El Chaco Sin Bosques: La Pampa o el Desierto del Futuro. Buenos Aires, Orientación Gráfica,
53-91.
OSUNA, Lilia Juanita, 1977, “El Chaco y su población, 1895-1970”, Folia Histórica del Nordeste, 2: 26.
PALAVECINO, Enrique, 1935, “Breve noticia sobre la religión de los indios del Chaco”, Relaciones de
la Sociedad Argentina de Antropología, 4: 85-91.
PALAVECINO, Enrique, 1964, “Nota sobre la mitología chaqueña”, Homenaje a Fernando Márquez
Miranda. Madrid, s. ed., 284-292.
PALAVECINO, Enrique, 1969-1970, “Mitos de los indios tobas”, Runa, 12 (1-2): 177-199.
PALMER, John, 1995, “Wichi toponymy”, Hacia Una Nueva Carta Étnica del Gran Chaco, 6: 3-64.
PALMER, John, 1997, Wichi Goodwill: Ethnographic Allusions. Oxford, University of Oxford, tesis
doctoral.
RENSHAW, John, 2002, The Indians of the Paraguayan Chaco: Identity and Economy. Lincoln, NE,
University of Nebraska Press.
REYBURN, Willian D., 1954, The Toba Indians of the Argentine Chaco: An Interpretative Report. Indiana,
Mennonite Board of Missions y Charities.
RICHARD, Nicolás (comp.), 2008, Mala Guerra: Los Indígenas en la Guerra del Chaco (1932-35). Asunción
y París, ServiLibro / Museo del Barro / CoLibris.
RICHARD, Nicolás, 2011, “La querelle des noms: chaînes et strates ethnonymiques dans le Chaco
boreal”, Journal de la société des américanistes, 97 (2): 201-230.
SALAMANCA, Carlos, 2006, En se glissant dans les fisures de l’utopie. París, EHESS, tesis doctoral.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
204
SALAMANCA, Carlos, 2011, Movilizaciones Indígenas, Mapas e Historias por la Propiedad de la Tierra en
el Chaco Argentino: La Lucha de las Familias Tobas por Poxoyâxaic Alhua. Buenos Aires, IWGIA y FLACSO.
SALAMANCA, Carlos, y Florencia TOLA, 2002, “La brujería como discurso político en el Chaco
argentino”, Desacatos, 9: 96-116.
SENDÓN, Pablo, y Diego VILLAR (comps.), 2013, Al Pie de los Andes: Estudios de Etnología, Arqueología
e Historia. Cochabamba, Itinerarios/ILAMIS.
STENGERS, Isabelle, 2005, “The cosmopolitical proposal”, en B. Latour y P. Weibel (comps.),
Making Things Public: Atmospheres of Democracy. Cambridge, The MIT Press.
STRATHERN, M., 1988, The Gender of the Gift. Berkeley, University of California Press.
SURRALLÉS, Alexandre, 2003, Au cœur du sens: Perception, affectivité, action chez les Candoshi. París,
CNRS y Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.
TOLA, Florencia, 2012, Yo No Estoy Solo en Mi Cuerpo: Cuerpos-Personas Múltiples entre los Tobas del
Chaco Argentino. Buenos Aires, Biblos/Culturalia.
TOLA, Florencia, Celeste MEDRANO, y Lorena CARDIN (comps.), 2013, Gran Chaco: Ontologías, Poder,
Afectividad. Buenos Aires, Rumbo Sur/Ethnographica.
TOLA, Florencia, y Valentín SUAREZ, 2016, El Teatro Chaqueño de las Crueldades: Memorias Qom de la
Violencia y el Poder. Buenos Aires, IIGHI/EREA/Ethnographica.
TOMASINI, Juan Alfredo, 1969-1970, “Señores de los animales, constelaciones y espíritus en el
bosque, en el cosmos mataco-mataguayo”, Runa, 12 (1-2): 427-443.
TOMASINI, Juan Alfredo, 1978-1979, “La narrativa animalística entre los toba de occidente”,
Scripta Ethnologica, 5 (1): 52-81.
TRINCHERO, Héctor, Daniel PICCININI, y Gastón GORDILLO (comps.), 1992, Capitalismo y Grupos
Indígenas en el Chaco Centro-Occidental (Salta y Formosa)/1. Buenos Aires, Centro Editor de América
Latina.
VILLAR, Diego, y Isabelle COMBÈS (comps.), 2012, Las Tierras Bajas de Bolivia: Miradas Históricas y
Antropológicas. Santa Cruz de la Sierra, Colección Ciencias Sociales de El País.
VUOTO, Patricia, y Pablo WRIGHT, 1991, “Crónicas del Dios Luciano: un culto sincrético de los
toba pilagá del Chaco argentino”, Religiones Latinoamericanas, 2: 149-180.
WAGNER, Roy, 1975, The Invention of Culture. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
WILBERT, Johannes, y Karin SIMONEAU (comps.), 1982, Folk Literature of the Toba Indians, vol. I. Los
Angeles, University of California.
WRIGHT, Pablo, 1990, “Crisis, enfermedad y poder en la iglesia cuadrangular toba”, Cristianismo y
Sociedad, 105: 15-37.
WRIGHT, Pablo, 1992, “Toba Pentecostalism revisited”, Social Compass, 39 (3): 355-375.
WRIGHT, Pablo, 2002, “L’evangelio: pentecôtisme indigène dans le Chaco argentin”, Social Compass,
49 (1): 43-66.
WRIGHT, Pablo, 2008, Ser-en-el-Sueño: Crónicas de Historia y Vida Toba. Buenos Aires, Editorial
Biblos/Culturalia.
WRIGHT, P., y J. BRAUNSTEIN, 1990, “Tribus toba: entre la historia, la demografía y la
lingüística”, Hacia Una Nueva Carta Étnica del Gran Chaco, 1: 1-11.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
205
NOTAS
1. La oposición naturaleza/cultura se constituyó, desde el comienzo de la disciplina, como uno de
sus dogmas y proveyó las herramientas analíticas para investigaciones antropológicas en
diversas sociedades. Las cosmologías indígenas, las nociones de cuerpo y persona, las ontologías,
las relaciones con el entorno fueron leídas bajo el lente de esta oposición (ya sea enfatizando en
el factor determinista de la naturaleza sobre la cultura, ya sea enfatizando en la forma en que la
cultura atribuye sentido a la naturaleza) o de alguno de sus derivados centrales: biológico/social,
dado/construido, cuerpo/mente, emoción/cognición, material/espiritual, inmanencia/
trascendencia, físico/moral, etc. Hace ya varias décadas, investigaciones antropológicas
muestran que esta oposición está lejos de expresarse de este modo en todas las sociedades a lo
largo de la historia e incluso algunos autores sugieren que esta dicotomía sería la gran
especificidad del Occidente moderno (cf. Wagner 1975; Strathern 1988; Latour 1991; Descola
1996). En las últimas décadas también, en la disciplina se replanteó el uso de categorías europeas-
americanas para abordar realidades sociales no europeas. La dicotomía naturaleza/cultura y los
rasgos asociados a ella fueron reformulados y dieron paso a repensar el dominio de lo dado y de
lo construido para otras realidades etnográficas.
2. Para la transcripción de las palabras y expresiones en toba utilizamos los siguientes símbolos
fonéticos: /sh/ (fricativa palatal sorda), /q/ (oclusiva uvular sorda), /x/ (oclusiva uvular sonora),
/’/ (oclusiva laríngea sorda), /ỹ/ (palatal sonora) (cf. Messineo 2003).
3. Destacamos, como un antecedente al tipo de reflexión del presente texto, los trabajos de
P. Wright (2008: 24), que constituyen un acercamiento existencialista nutrido de una experiencia
intercultural. En su obra, el antropólogo indaga sobre la ontología desde la filosofía europea,
esencialmente, y desde la filosofía amerindia. Se pregunta por la forma en que “otras formas de
vida” afectaron su “estructura existencial” (2008: 42) y refiere al modo en que la experiencia
etnográfica con indígenas tobas lo condujeron a “explorar su filosofía de vida, básicamente su
visión del ser y el conocimiento” (2008: 43).
4. Utilizo los términos “pueblo indígena”, “indígena”, “pueblo amerindio”, “pueblos originarios”
o “aborígenes” indistintamente. El uso indistinto de los términos no conlleva un desconocimiento
del origen colonial de algunos de ellos, ni tampoco el hecho de que las variaciones en la
utilización de estos términos responden a la historia de las relaciones que los países o sectores
colonizadores sostienen y han sostenido con dichos pueblos. Si hace diez años los qom se
reconocían como “aborígenes”, hoy en día algunos de ellos prefieren ser llamados “indígenas”.
Otros, en cambio, se autodenominan qom y les es completamente indiferente que se los llame
“amerindio” o “pueblo originario” pues ambas denominaciones son hechas por no-indígenas y
ellos no consideran que “amerindio” sea más o menos incorrecto que “pueblo originario”. Sobre
el uso indistinto de “aborigen” y “amerindio”, ver también Wright, quien, por momentos, habla
de “grupos aborígenes” (2008: 23), por momentos, de “filosofía amerindia” (2008: 34) y, por
momentos, de “pensamiento indígena” (2008: 35).
5. Según Censabella (1999: 61), la lengua mbayá de la familia lingüística guaycurú es una lengua
extinta. La autora refiere que los caduveo que hablan en la actualidad el caduveo del estado de
Mato Grosso do Sul serían sus descendientes.
6. Sobre esta familia, cf. Kalish y Unruh (2004).
7. Esta reconstrucción de las familias lingüísticas y grupos es una actualización de aquella
publicada en Tola, Medrano y Cardin (2013) y de una comunicación personal con Rodrigo Villagra
(en 2018).
8. Sobre el tema, cf. Osuna (1977), Altamirano, Sbardella y Dellamea de Prieto (1987) y Gordillo y
Leguizamón (2002).
9. Existe una abundante bibliografía regional acerca del impacto en la consciencia colectiva de los
pueblos chaqueños del proceso de misionarización. Tanto antropólogos como misioneros se han
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
206
interesado por las relaciones entre las cosmologías chaqueñas y el evangelismo, así como por el
proceso de creación de las diferentes iglesias indígenas. Sobre el tema, cf. Reyburn (1954),
Loewen, Buckwalter y Kratz (1997 [1965]), Miller (1979), Ceriani Cernadas (2004, 2014), Wright
(2002, 2008), entre otros. Cabe destacar que, tal como refiere Wright, fue el trabajo pionero de
Miller en 1967 el que abrió “un espacio conceptual para el análisis de los fenómenos socio-
religiosos de la región del Gran Chaco, hasta el momento poco o casi nada explorados” (Wright
2002: 44).
10. Datos del Censo 2010, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina,
desde https://www.indec.gob.ar (última consulta en junio de 2019).
11. Dichos relatos son, específicamente, parte de la memoria de adultos y ancianos qom de Riacho
de Oro, San Carlos, Santo Domingo y Km 503, en donde realizo trabajo etnográfico desde hace 20
años. En estas comunidades he llevado adelante investigaciones con diversos equipos de
colaboradores indígenas y académicos, en el marco de proyectos financiados por el Conicet (PIP
0612), la Secretaría de Ciencia y Técnica (PICT 1303, PICT 2757) y la UNESCO (n.º 049). La
metodología implementada para el registro de la historicidad de los qom de esta región incluyó el
relevamiento del territorio reconocido como propio, de la toponimia y los relatos asociados a
cada sitio nombrado, de la red parental de más de 1500 personas junto con historias de familias,
parejas y personas. Gran parte de estas historias, así como las que acompañan la toponimia,
fueron grabadas en qom laqtac (lengua toba) y luego traducidas con la colaboración de hablantes
nativos. Parte del material recopilado y de los mapas realizados de modo colaborativo fue
presentado en informes técnicos a las comunidades, que disponen de ellos para sus reclamos
territoriales ante el Estado provincial. Agradezco la colaboración de mi colega Celeste Medrano,
con quien he realizado gran parte de dichas investigaciones entre 2010 y el presente, y de
Valentín Suarez, líder qom, con quien trabajamos desde el 2008 de modo colaborativo en diversos
proyectos de investigación.
12. Cf. Cordeu et al. (s. d.), Wright (2008), Ceriani Cernadas (2008a), Richard (2008, 2011), Villar y
Combès (2012), Tola, Medrano y Cardin (2013), Sendón y Villar (2013), Messineo (2014), Córdoba,
Bossert y Richard (2015), entre otros.
13. Cf. Cordeu (1969-1970), Tomasini (1969-1970, 1978-1979), Miller (1979), Wright (2008),
Gordillo (2006, 2010), Ceriani Cernadas (2008a, 2008b), Citro (2009), López (2007, 2013), López y
Giménez Benítez (2008, 2009a, 2009b), Medrano (2012), entre otros.
14. A partir de la década de 1990 comenzaron a proliferar en la antropología de pueblos
indígenas sudamericanos investigaciones sobre historia-historias, temporalidad, mito-historia,
memoria histórica e historicidad. El dossier publicado en L’ Homme (1993), editado por Descola y
Taylor, está dedicado a la Amazonía y agrupa artículos de los más destacados americanistas que,
en Europa, renovaron los estudios sobre sociedades indígenas. En la introducción, Descola y
Taylor destacan algunas categorías y dominios hasta el momento no considerados, entre los que
está el tema del cambio ya no pensado “desde el punto de vista del etnocidio o la aculturación,
sino a partir de la construcción de formas originales de etnicidad y de expresión política”
(Descola y Taylor 1993: 21). A finales de 1980, Hill había ya publicado la compilación en la que se
adentraba de lleno en el tema de la historicidad, a partir del debate mito-historia, surgido de la
distinción de Lévi-Strauss entre sociedades frías y calientes. Inspirados en el análisis de
narrativas, rituales y oratorias amazónicas y andinas, los autores compilados por él retoman el
interés por la historia, distanciándose de las preocupaciones por las estructuras político-
económicas de dominación (Hill 1988: 2), y centrándose en las historias locales y regionales. La
“agencia socio-histórica” (Hill 1988: 2) de los sujetos involucrados va a constituir uno de los
temas centrales a ser tematizados por las diversas contribuciones, en un intento por discutir la
lectura supuestamente a-histórica de la antropología francesa estructuralista. Siguiendo con los
debates derivados de las lecturas lévi-straussianas, en 2001 Gow publica An Amazonian Myth and Its
History, con la intención de mostrar, a través de su etnografía entre los piro de la Amazonía
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
207
peruana, la idea lévi-straussiana de que los mitos son “objetos históricos”; idea que se trasluce en
su monumental obra de las Mitológicas. En síntesis, las reflexiones lévi-straussianas sobre la
historia amerindia dieron lugar a posicionamientos de lo más diversos: unos cuestionan los
análisis sincrónicos y formales del estructuralismo (Hill 1988) para repensar la acción histórica y
política, mientras que otros se distancian de los enfoques africanistas-ingleses sobre tiempo, para
repensar los regímenes de historicidad desarrollados por los pueblos amerindios (Fausto y
Heckenberger 2007). Ahora bien, a pesar de sus diferencias, los autores agrupados en ambas
compilaciones comparten, por un lado, el interés por la memoria y la temporalidad indígena y,
por otro, abandonaron el estudio de la macro-historia, los enormes intervalos, las estructuras de
dominación y las nociones de aculturación en pos de la historia en devenir, las filosofías sociales
de la temporalidad, las transformaciones, los regímenes de historicidad, la agencia y la acción
creativa humana (Fausto y Heckenberger 2007). Para el caso de los qom, existen trabajos pioneros
sobre el tema: Miller (1979), Cordeu (1969-1970), P. Vuoto y Wright (1991), Gordillo (2005) e
Idoyaga Molina (1992, 1994), entre otros.
15. Es abundante la literatura chaqueña que refiere al rol central desempeñado por las aves en la
comunicación con los chamanes y los oiquiaxai. Durante la Conquista, numerosos chamanes
lograron huir del invasor gracias a los mensajes que los pájaros les enviaban. Sobre el tema,
cf. Miller (1979), Balducci (1982), Wright (2008), Medrano (2012, 2013), Tola y Suarez (2016), entre
otros.
16. Algunas de las historias aquí editadas fueron presentadas en una ponencia colectiva
(Medrano, Tola y Suarez 2016).
17. Sobre las prácticas de brujería y el accionar de las brujas, existen diversas lecturas e
interpretaciones en la literatura regional: cf. Salamanca y Tola (2002), Karsten (1932), Palavecino
(1935), Reyburn (1954), Métraux (1967), Cordeu (1969-1970), Martínez Crovetto (1975), Miller
(1979), Idoyaga Molina (2000) y Salamanca y Tola (2002).
18. En Buckwalter y Buckwalter (2001: 5), el término para “luna” es escrito del siguiente modo:
ca’agoxoic. Las diferencias entre la –c- y la –q- inicial puede deberse al modo diferente en que los
hablantes tobas de diversas regiones pronuncian un mismo lexema.
19. Para otras versiones e interpretaciones del mito de la destrucción de la tierra, cf. Karsten
(1932: 212-224), Métraux (1946: 33-35), Palavecino (1964: 286-289, 1969-1970: 183), Cordeu
(1969-1970: 131-132), Tomasini (1978-1979: 67-68) y Wilbert y Simoneau (1982).
20. A pesar de los enfoques diversos y de los objetivos que cada estudio sobre toponimia se
proponía, cabe destacar los siguientes trabajos tanto en el Chaco argentino como en otras
regiones sudamericanas: Miller (1973), Wright y Braunstein (1990), Wright (1990), Braunstein
(1993), Palmer (1995, 1997), Fernández y Braunstein (2001), Salamanca (2006), Censabella (2009),
Descola (1986), Surrallés (2003), entre otros.
21. La clasificación de Fernández y Braunstein (2001) es la siguiente: (a) lugares de habitación o
campamento (relacionados con fuentes de agua); (b) lugares de actividades económico-
productivas (referencia a las especies animales y vegetales que se encontraban allí y a alguna
característica física del lugar): (c) lugares preestablecidos de encuentro entre grupos; (d) puntos
intermedios o etapas de itinerarios usuales; (e) sitios donde ocurrieron hechos históricos y
extraordinarios; (f) lugares que funcionan como límites geográficos-territoriales.
22. Existen en el Chaco argentino trabajos antropológicos que, desde los comienzos de la
etnografía chaqueña, se dedicaron a la temática del cuerpo. Uno de los referentes en la temática
del cuerpo es la antropóloga Silvia Citro (2000) quien, retoma la perspectiva de Wright sobre el
Evangelio y conjuga la dimensión “numinosa” con ciertas experiencias extáticas de los cultos
pentecostales para explorar la dimensión corporal de dichos cultos y las formas que estos
adoptan en tanto ritual, en el marco de relaciones interétnicas de dominación y resistencia. Sus
trabajos dialogan con la sociología francesa centrada en las inscripciones del poder en el cuerpo y
el concepto fenomenológico de embodiment. La reflexión sobre el cuerpo como lugar de
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
208
inscripción del poder, tanto en los contextos rituales evangélicos como en la vida cotidiana,
permite a Citro poner en relación la antropología fenomenológica con aquella centrada en las
relaciones de subordinación. Más recientemente, Citro (2009, 2011) se interesó por efectuar una
antropología dialéctica de y desde los cuerpos que integre tanto la cuestión de la corporalidad
entre los qom como sus propias experiencias corporales, en tanto etnógrafa. En permanente
diálogo con la perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty, Citro sugiere que “habría una
experiencia fenomenológica de la carne común a diferentes culturas, la cual, no obstante, ha sido
más visible en determinados contextos culturales […] mientras habría sido invisibilizada en las
prácticas y las representaciones occidentales que han sido hegemónicas hasta la modernidad…”
(2011: 41).
23. En su texto clásico, Viveiros de Castro refiere al lugar central de los chamanes (aunque no
menciona que el perspectivismo sea una filosofía pura y exclusivamente de los chamanes
amazónicos), a quienes define como “mestres do esquematismo cósmico […], dedicados a
comunicar e administrar essas perspectivas cruzadas, estão sempre aí para tornar sensíveis os
conceitos ou tornar inteligíveis as intuições” (Castro 1996: 117). Es decir, si el perspectivismo se
manifiesta en sociedades con chamanes, con cazadores, con presas y predadores, esto no significa
que los únicos humanos que vivan el perspectivismo sean los chamanes.
24. Sobre la noción de “mundo” existe una gran diversidad de posturas antropológicas y
filosóficas cuya descripción y detalle excede, por completo, el objetivo de este artículo. Sin
embargo, para una lectura del concepto de “mundo” tal como está siendo usado por la
antropología ontológicamente orientada, remitirse al dossier especial de HAU (Hanks e Severi
2014) que brinda una pluralidad de lecturas antropológicas críticas sobre el mismo. En el caso del
Chaco argentino, ver especialmente los trabajos de Wright (2008), que conjugan un interés por la
filosofía existencialista y fenomenológica y la filosofía amerindia en lo referido a la noción de
mundo.
25. Utilizo el término “existente” en el sentido que Descola le da al mismo: cualquier cosa de la
cual un ser humano piensa que existe, ya sea porque posee una forma material o solamente
conceptual [Philippe Descola, comunicación personal]. Asimismo, además de remitir a todo ente
que existe, a diferencia del término “ser”, “existente” no especifica el modo en que existe aquello
que existe. Es decir, un existente puede existir en tanto ser o puede existir en tanto devenir. Esta
última idea es acorde con las ontologías amerindias para las cuales la transformación y la
porosidad de los límites de cada entidad son características constitutivas de todo lo que existe.
RESÚMENES
Exploramos los efectos de ciertas entidades no-humanas (fenómenos atmosféricos, muertos,
dueños de animales, pájaros) en la vida cotidiana, en la historia y en el cuerpo de los indígenas
tobas (qom) del Chaco argentino. Para eso, analizamos algunos relatos indígenas sobre la
conquista estatal de sus territorios en finales del siglo XIX en los que el accionar de estas
entidades incidió en el devenir de los antiguos qom y en sus desplazamientos mientras huían de
los frentes de conquista y colonización. Mostramos que el entorno, un espacio vivido y cargado
de intencionalidad y agencia, presenta características que son la consecuencia del accionar de
estas entidades no-humanas. Estas dejan huellas que son leídas por los seres humanos en su
permanente transitar por los lugares de su territorio. Por último, exponemos situaciones de la
vida cotidiana ocurridas durante nuestra etnografía (desde 1997 hasta el presente) que dan
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
209
cuenta de los efectos de las intencionalidades “otras” (más allá de las humanas) sobre el cuerpo.
A partir de la etnografía llevada a cabo en el Chaco central profundizamos en la relación
humano-no-humano y en el modo en que para este grupo indígena la historia, el entorno y el
cuerpo no se hallan al margen del ensamblaje humano-no-humano sino que son co-construidos
por él.
The article explores the effects of certain non-human entities (atmospheric phenomena, dead
beings, masters of animals, birds) on everyday life, the history and the body of the Toba (Qom)
native people in the Chaco region, Argentina. Native narratives are analyzed, regarding the
State’s takeover of their territories in the late 19th century and how such entities impacted on the
life of the ancient Qom and their displacements while fleeing conquest and colonization fronts.
Likewise, the environment, in addition to being a lived space carrying intentionality and agency,
presents certain features as a result of the mobilization of non-human entities. These leave traces
that are read by humans in their constant transits throughout their territory. Finally, everyday-
life situations observed during fieldwork (since 1997) show effects of “other” intentionalities
(besides the human ones) on the body. Ethnography carried out in central Chaco is the basis for
inquiring the human-non-human relationship and how history, the environment and the body
among this native people are not detached from the human-non-human assemblage, but rather
co-produced by it.
ÍNDICE
Palabras claves: Gran Chaco, tobas, cuerpo, historicidad, cosmología
Keywords: Gran Chaco, Toba people, body, historicity, cosmology
AUTOR
FLORENCIA TOLA
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina; EREA-LESC,
Francia
tolatoba2015@gmail.com
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
210
Ontologia da confusão: Exu e o
Diabo dançam o “Samba do Crioulo
Doido”
Ontological confusion: Eshu and the Devil dance to the “Samba of the Black
Madman”
Moisés Lino e Silva
Becos de confusão
1 Um rato gordo passa sobre nossas cabeças, equilibrando-se precariamente em um dos
muitos fios que fazem parte da gigantesca rede de cabos aéreos que conecta milhares de
casas na favela: trazendo eletricidade, serviço de telefone, conexão à Internet e sinal de
TV para muitas delas.1 Poucas pessoas diriam compreender como exatamente o
emaranhado de fios funciona, em meio à bagunça de diferentes formas, cores,
tamanhos e utilidades dos componentes – complexidades entrelaçadas (figura 1). Um
amigo meu, um eletricista sem muita formação técnica, tece alguns comentários sobre a
possível ordem do que parece uma confusão total para aqueles que não compreendem o
arranjo de fios na favela da Rocinha. Ele diz, por exemplo, que mais de metade de todos
os fios são “conexões ilegais” (também conhecidas como “gatos”). O eletricista
acrescenta também que outra grande parte dos fios não funciona mais, são fios muito
velhos e já não transmitem qualquer carga ou sinal. Como essas conexões antigas não
são removidas da rede e novas conexões emergem todos os dias, o emaranhado como
um todo tende a crescer constantemente. Como resultado, a cada dia a malha aérea
impede cada vez mais a passagem da luz solar nas vielas estreitas (becos) utilizadas por
milhares de pessoas como principal meio de circulação de pedestres e motos na favela.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
211
Figura 1 – Uma confusão de cabos aéreos na favela da Rocinha
Foto: Levi Ricardo.
2 No meio de uma multidão barulhenta, passando por um dos becos mais movimentados
da Rocinha, percebo um menino de cerca de 12 anos que havia disparado a correr,
empurrando e batendo em todos que estavam na frente dele. Outra criança, muito mais
nova, seguia a primeira, aproveitando o espaço que o mais alto criava enquanto ia
empurrando o pessoal. De repente, começamos a ouvir, no meio da multidão, barulhos
estranhos vindos de algum tipo de objeto pesado batendo repetidamente contra o chão.
Quase todos os presentes no beco naquele exato momento pararam para procurar onde
estava acontecendo o evento. Começaram a ficar mais quietos, procurando
nervosamente pistas sobre o que estava havendo. Meus amigos que estavam sentados
comigo no chão do beco, sobre folhas usadas de jornal, levantaram-se e logo em seguida
colocaram-se nas pontas dos pés, tentando não perder nenhum movimento de vista.
3 Samira então gritou: “Olhe lá! Uma confusão lá!” Meus olhos procuraram o que ela
tinha acabado de reconhecer, mas todo o beco estava tão cheio que não parecia me
fornecer um fundo ideal para identificar qualquer confusão em particular. No entanto,
com o passar do tempo, começou a surgir um vazio em torno de um homem de cabelos
brancos e barbas longas, que carregava um grande saco de plástico preto na mão
esquerda e um grande cacete de madeira na mão direita. Ele tinha suas roupas rasgadas
e nenhum de seus olhos se abria completamente. Obviamente, aquele senhor não
conseguia enxergar muito bem ao redor dele; entretanto, insistia em continuar
golpeando violentamente em todas as direções, quase sempre contra o ar, na esperança
de que em algum momento ele conseguisse acertar algo, ou alguém, além do chão.
Algumas pessoas começaram a fugir rapidamente do beco e eu estava me preparando
para fazer o mesmo. Samira então segurou meu braço e disse: “Calma, isso vai acabar
em breve!” Ela sabia que o velho sofria de deficiência visual e alguns meninos
costumavam se divertir chutando esse senhor pelas costas e depois fugindo para se
esconder dele. Muito agitado, o velho costumava responder com ataques de fúria.
Depois de algum tempo golpeando com o cacete de madeira, ele costumava ficar muito
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
212
cansado e voltava para o mesmo lugar onde dormia todas as noites, naquele mesmo
beco lotado e, ao mesmo tempo, sombrio.
Formas, existências e repertórios
4 Este artigo propõe uma reflexão sobre a confusão enquanto forma cotidiana entre os
moradores da favela da Rocinha, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Como esses
moradores, com quem eu vivi por quase dois anos, reconhecem “uma confusão”? No
sentido particular de uma forma reconhecível, a confusão pode assumir uma existência
muito concreta: a forma de certas situações, condições, sentimentos e práticas da vida
diária. No entanto, o ato de reconhecer uma confusão não parece ser neutro e nem
absolutamente determinado pelas circunstâncias da vida na favela. O que pode ser
entendido como uma confusão sombria também pode revelar muito sobre a história, as
lutas e as condições de vida desse lugar, cada vez mais encoberto por um emaranhado
de fios (figura 1), que ao mesmo tempo conecta e confunde. O que é preciso para
reconhecer e compreender a confusão na favela?
5 Relatos de antropólogos momentaneamente confusos durante o trabalho de campo não
são incomuns. No entanto, há momentos em que o mundo parece estar confuso para
todos. Como pessoas diferentes desembaraçam seus fios e encontram seus caminhos
diante das confusões da vida depende de muitos fatores. Neste texto, exploro como
formas distintas de conhecimento influenciam a maneira como moradores da Rocinha
vivenciam e lidam com a confusão em suas experiências diárias. Particularmente,
argumento que há uma inflexão entre vivências que poderiam ser consideradas
“religiosas” e o reconhecimento da existência (ontológica) de confusões em domínios
que incluem e, ao mesmo tempo, ultrapassam o “religioso”. Apresento ainda algumas
consequências dessa inflexão no que tange ao julgamento moral atribuído às confusões
na favela.
6 Não é de surpreender que o próprio ato de reconhecer a existência da confusão sob uma
forma definida pareça estar necessariamente ligado a perspectivas específicas, que
fornecem as condições de possibilidade para tal ato de reconhecimento ocorrer. No
entanto, considero também que a dependência do contexto não é uma explicação
suficiente. Não vou argumentar que é um contexto fixo que permite a determinação da
existência de confusão sob uma forma particular. Em vez disso, gostaria de considerar
como o ato de reconhecer a confusão enquanto forma ontológica imanente (e que existe
em um determinado lugar e tempo) implica uma diferenciação mínima entre essa
forma singular e outras formas consideradas como parte do contexto (background). O
método utilizado para minha investigação é etnográfico e recursivo, trabalhado para
abordar uma questão mais ampla: de que maneira diferentes formas de conhecimento
afetam diferentes entendimentos ontológicos da confusão na vida quotidiana?
7 Comecei o meu trabalho de campo reconhecendo mais facilmente as confusões
generalizadas na Rocinha: o caótico sistema de trânsito, a coleta de lixo precária, a
densidade hipnotizante da vida nas ruas e tantas outras. Entretanto, tinha maiores
dificuldades em reconhecer formas mais específicas e precisas de confusão. Levei algum
tempo para adquirir o conhecimento necessário para determinar quando formas de
confusão mais específicas começavam a surgir na favela. Em certo sentido, tive que
aprender o que poderia ser chamado de uma gramática de diferenciação de confusões.
No entanto, ao morar na Rocinha, aprendi também que essa gramática não é nem
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
213
homogênea nem circunscrita. Ao contrário, ela é tão complexa e fluida enquanto forma
de conhecimento quanto complexos e fluidos são os grupos de pessoas que vivem na
Rocinha. Parte da confusão inerente à capacidade de reconhecer “uma confusão” seria
derivada exatamente do fato de que não há uma posição epistemológica fixa ou neutra
para servir de base a partir da qual arbitrar com precisão a existência da confusão como
forma emergente.
8 Experiências de liminaridade e transformações ontológicas são parte importante das
chamadas “experiências religiosas” (van Gennep 1960; Turner 1967). Como tal,
argumento que tal domínio atua como locus privilegiado dentro do qual a confusão
ontológica é ao mesmo tempo produzida, testada e transformada em outras formas de
conhecimento. Numa tentativa de compreender melhor o modo como a confusão existe
na vida cotidiana das pessoas, descrevo e proponho uma análise das confusões
específicas que experimentei durante um ritual de umbanda, que ocorreu durante o
período em que morei na favela. Argumento que a existência de Exu como um tipo
particular de “deus das confusões” na cosmologia das religiões afro-brasileiras tem
consequências diretas para o entendimento da confusão no cotidiano da Rocinha,
especialmente em contraste com as experiências dos meus amigos evangélicos que
também vivem por lá, mas acreditam em um único Deus, e que não é do tipo trickster.
Exu e Pombagira dançam no alto do morro
9 Este episódio envolve, principalmente, moradores da favela autoidentificados como
membros de um grupo queer chamado PAFYC. 2 Em sua maioria adolescentes, esses
moradores frequentavam regularmente terreiros de umbanda e quimbanda na Rocinha.
Embora houvesse reclamações aqui e ali sobre o número cada vez menor de espaços
para cultos de matriz africana na favela, eu ainda consegui visitar um bom número de
terreiros durante o tempo em que morei na Rocinha. O segundo grupo de moradores
que vai figurar no meu argumento é constituído por evangélicos neopentecostais, que
eram em sua maioria meus vizinhos na favela e constantemente me convidavam para os
cultos que organizavam e dos quais participavam com fervor.
10 Havia um número consideravelmente maior de igrejas evangélicas na comunidade do
que terreiros em 2009. Na companhia dos meus vizinhos pentecostais (em geral, mais
adultos e idosos), participei de vários cultos evangélicos durante meu campo em 2009 e
2010. Eu tinha conhecido a maioria dos amigos com quem eu frequentava os rituais de
candomblé, umbanda e quimbanda na Rocinha, principalmente, através de afinidades
queer.3 Esse fato marca uma diferença significativa entre os dois grupos: os evangélicos
orgulhavam-se de seguir (ou, ao menos, tentar seguir) estritas normas e ordenamentos
estabelecidos por Deus, pela Bíblia e pela comunidade da Igreja. Esses ordenamentos
pretendiam regrar tanto as vidas íntimas desses evangélicos quanto as relações mais
amplas deles com o mundo. Nesse sentido, mostravam-se orgulhosos de serem
normativos. Em contrapartida, os membros do grupo PAFYC eram amplamente não
normativos, não apenas em termos de gênero e sexualidade, mas também em termos de
suas próprias práticas religiosas.4 As interseccionalidades entre religião, gênero e
sexualidade apresentam-se como formações importantes, que atuam, muito
evidentemente, na contestação de fronteiras normativas de gênero e para celebrar
identidades de gênero não normativas.5
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
214
11 Depois da distração momentânea oferecida pelo episódio das crianças abusando do
velho senhor, a conversa com meus amigos do PAFYC voltou ao ponto onde a havíamos
deixado: a festa de umbanda que começaria pouco depois da meia-noite, em uma casa
localizada no alto da colina, perto de uma grande caixa-d’água, já adentrando uma
pequena floresta que havia sobrevivido à urbanização maciça da área. Minha amiga
Samira era uma das pessoas mais animadas com o evento: “Vai ser babado! Vai ser
incrível!” Havia sido Samira que me apresentara a maioria dos adolescentes do infame
grupo de amigos queer da Rocinha. Samira era um pouco mais velha que o resto do
grupo e tinha um sorriso muito doce. Relacionava-se com os outros garotos de uma
forma quase maternal, embora participasse também da maioria das aventuras do
grupo. “Quem vai pra macumba hoje?” – ela perguntava de vez em quando com grande
animação. A cada pergunta, várias mãos respondiam agitando-se no ar com vigor.
12 À medida que nossa conversa continuava até altas horas, o fluxo de pessoas através da
área continuava intenso. Havia sempre assunto para fofoca e entretenimento enquanto
as pessoas continuavam fluindo diante de nossos olhos. Um grupo de jovens musculosos
se reunia perto de onde estávamos sentados e meu amigo Joel ria em tom alto tentando
chamar a atenção de algum deles. Um grupo de traficantes armados guardava um
cruzamento logo abaixo no mesmo beco, onde várias pessoas se reuniam para fumar e
comprar maconha. Os fuzis pareciam ser apenas elementos triviais diante da
complexidade de eventos no beco. Ali perto, o bar de jogos eletrônicos funcionava 24
horas por dia e quase sempre estava cheio de fregueses. Diferentes estilos musicais
competiam por atenção na área, vindo principalmente dos muitos outros bares nas
proximidades. Até mesmo os salões de beleza naquele beco tocavam ritmos do funk para
manter a clientela entretida.
13 Pouco antes da meia-noite, uma mulher mais velha e extremamente magra atravessou
o beco usando um vestido longo e de corte simples, plissado da cintura para baixo.
Amendoim, um garoto falante, com cabelos longos e quimicamente alisados, olhou para
Samira e logo disse: “Oh meu Deus! É aquela mulher de novo!” A tal senhora estava
conversando com outra bem ao nosso lado, ambas usavam vestidos semelhantes. Com
base naquele código de vestimenta, presumíamos que elas pertenciam a alguma
congregação evangélica. A senhora mais magra então tirou um pedaço de papel de uma
pequena sacola plástica e mostrou-o à outra senhora com quem estava conversando.
Olhando para trás, ela notou nossa presença e virou-se lentamente em nossa direção.
Aproximou-se de Samira dando um boa-noite. Samira respondeu com um sorriso. A
maioria das pessoas no grupo simplesmente tentava ignorar a presença da senhora. Ela
então entregou um panfleto para Samira, contendo versículos bíblicos, e acrescentou:
“Todos vocês estão convidados a compartilhar da fé em Jesus na minha igreja, neste
domingo, OK?” Samira agradeceu em voz muito baixa. Em seguida, Amendoim
murmurou: “Igreja? Eu quero é macumba, meu bem!” A senhora evangélica reagiu
levantando as duas sobrancelhas ao mesmo tempo. Ela balançou a cabeça
negativamente e respondeu: “Não é hora de você estar na cama, em casa? Você tem que
sair dessa vida de rua, meu filho! Sair desse beco, dessa confusão! Onde está sua mãe?”
Amendoim rebateu imediatamente: “A única coisa que sei é que você não é a minha
mãe para me dar ordens!” A senhora sacudiu a cabeça novamente, não falou mais,
simplesmente se afastou de todos nós e logo desapareceu na multidão.
14 Até onde sabia, nenhum membro do PAFYC era morador de rua, geralmente tinham
famílias e casas na favela. No entanto, muitos deles também eram conhecidos por serem
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
215
extremamente “rebeldes”, não respeitavam pai e mãe, ficavam na rua até muito tarde à
noite, não obstante os pedidos de suas famílias. No grupo PAFYC, apenas Samira parecia
exercer algum grau de autoridade dentre os diferentes membros do grupo. Naquela
noite, Amendoim tinha claramente irritado Samira com a forma como respondera à
magra senhora. Amendoim havia percebido o mal-estar, então sorriu e simplesmente
respondeu: “Tô nem aí para essa porra!” Foi então que Samira deu-lhe um tapa forte na
orelha, com sua mão pesada, mas sorrateiramente tentando não rir ao mesmo tempo
em que batia.
15 Antes de sair para a festa, comuniquei à minha vizinha Amélia que estava indo para
uma gira de umbanda. Católica devota, Amélia não ficou muito feliz com a notícia e
simplesmente respondeu: “Cuidado com essas coisas, hein?” Sorri e pedi que não se
preocupasse comigo. Moto-taxis nos levaram até onde era possível subir de
motocicleta, daquele local em diante ainda restava uma boa caminhada antes que
pudéssemos começar a subir a escadaria final que nos conduziria ao terreiro no alto do
morro. Do meio da escadaria em diante, já podíamos ouvir o som de tambores vindos de
uma pequena casa de tijolos velhos, no meio de uma floresta muito fina. Ao final da
subida, Samira estava respirando pesadamente e pediu para fazer uma pausa antes de
entrarmos no terreiro. Os outros membros do grupo não prestaram atenção e
simplesmente seguiram em frente, deixando-nos para trás. Empurraram o portão de
ferro da entrada, que se abriu sem muita resistência, mas repentinamente pararam
antes de atravessá-lo. Logo após o portão aberto, havia uma entidade parada, vestida
com uma saia vermelha de cetim, com um cigarro aceso entre os lábios e segurando um
copo de vinho tinto na mão esquerda.
16 No chão, a alguns centímetros de distância dos pés descalços da Dama de Vermelho,
notei velas queimando em torno de um tridente bastante enferrujado. “Assentamento
de Exu”, disse Samira, murmurando em meus ouvidos. “Como posso ajudá-los?”, disse a
senhora fumando. Samira levantou-se rapidamente e caminhou em sua direção, com
reverência, tentando resolver a situação um pouco delicada. Educadamente, Samira
desejou-lhe um boa noite e, em seguida, disse que estávamos ali para participar da festa
de Exu. Alguns momentos tensos de silêncio se seguiram e logo ouvimos um brado:
“Mais almas para a festa!”, proclamava a entidade, levantando sua taça de vinho em
brinde e imediatamente deixando-se cair no chão por sobre seus joelhos dobrados,
enquanto emitia uma gargalhada gutural. Pareceu-me assustador. Um pouco mais
tarde, mais calma, Samira viria a comentar que essa maneira de rir era típica das
pombagiras, nada de preocupante. Disse, ainda, que as pombagiras eram a
contrapartida feminina dos exus, por isso gostavam de confusão, assim como eles, que
eram considerados os donos das encruzilhadas e os senhores das confusões. Enquanto
conversávamos, olhei mais uma vez para o portão, o caminho de saída estava fechado.
17 No pequeno barracão central, um grande círculo de visitantes estava formado ao redor
de médiuns e entidades. Alguns dos exus estavam portando uma capa preta, outros
usavam terno, muitos fumavam charutos e quase todos estavam bebendo algum tipo de
álcool. Algumas pombagiras presentes eram semelhantes em traje àquela que nos havia
saudado no portão de entrada, mas havia uma paleta mais variada de cores. Alguns
poucos vestuários eram bem mais elaborados do que outros. Quase todos os presentes
moviam-se ao som dos tambores, ainda que muito sutilmente. Um senhor aproximou-se
do nosso grupo e ofereceu um pouco da bebida que transbordava de seu copo. Olhei
para Samira e ela assentiu com a cabeça: “exu Caveira!” Um dos adolescentes do nosso
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
216
grupo começou a beber do copo dele. Samira riu e me disse que estava curiosa para ver
qual dos nossos amigos iria “virar no santo” primeiro. 6
18 De repente, uma senhora agarrou a renda externa da própria saia e começou a esfregá-
la no corpo de Amendoim, dançando sensualmente. Tonto, ele parecia perder cada vez
mais o equilíbrio. Amendoim começou então a segurar a própria cabeça com as duas
mãos, puxava os cabelos para cima, tentando colocar um elástico como prendedor.
Samira riu e comentou, esfregando suas mãos em agitação: “Essa pombagira é do mal!
Viu? Ela vai fazer o Amendoim virar no santo!” Amendoim tentava sustentar a própria
cabeça com as mãos, mas ela parecia ficar pesada demais. Samira me disse animada:
“Ah, ele está segurando o santo, mas vamos ver por quanto tempo!” Perguntei quando
seria a vez de Samira virar e ela soltou uma gargalhada gostosa, respondendo: “Pare!
Você já deve saber que isso nunca vai acontecer comigo!”
19 O ritmo dos tambores havia mudado e o odor de charutos e cigarros aumentava, foi
quando outra pombagira começou a falar comigo: “Boa noite, meu menino!” Nunca
sabendo exatamente como me direcionar a uma entidade espiritual, respondi
timidamente, saudando-a e logo tentando afastar meus olhos dos dela. A pombagira
sorriu, cuspiu um pouco de fumaça no meu rosto e passou a falar com Samira,
ignorando-me. Uma mulher loira começou a tremer muito, bem ao meu lado direito.
Logo estava dando pequenos saltos, movimentando o ar abafado para cima e para baixo.
Ao parar e abrir os olhos, ela parecia não entender o que estava acontecendo ao seu
redor. Outra pessoa, vestida de branco e muito mais jovem, começou a caminhar
rapidamente em nossa direção. Ela estava acompanhando a senhora loira, seu trabalho
era cuidar do bem-estar dos médiuns. À medida que as entidades partem deste plano,
restam os corpos exaustos dos médiuns, frequentemente bastante confusos. Quando
chegam para manifestarem-se, os espíritos geralmente fazem os corpos humanos
tremerem violentamente. Apesar de seus esforços, Amendoim não havia conseguido
evitar a possessão por muito tempo e estava dançando extasiado pela sala. Pediu a
alguém do templo por um copo de vinho e também queria uma saia para vestir. Juntou-
se ao grupo de outros exus e pombagiras que estariam dançando, bebendo, fumando e
conversando a noite toda.
20 A fumaça densa que não encontrava saída do barracão, a gargalhada das divindades, as
lágrimas de uma menina que se consultava com exu Sete Caveiras em um canto isolado,
o brilho intenso das velas que iluminavam um grande altar, o cheiro de suor emanando
dos trajes pesados e extravagantes naquela noite quente, todos esses elementos me
fizeram sentir bastante confuso. Amendoim tinha acabado de me abraçar, mas ele não
mais o fazia como se estivesse saudando um amigo. “Ela é a pombagira Ciganinha!” –
Samira clarificou pacientemente. Amendoim não era mais ele mesmo, na realidade, ele
era a pombagira Ciganinha. Na festa, havia sido distribuído vinho, também cachaça, em
uma abundância impressionante. Samira me disse que estava ansiosa para conversar
com a pombagira Dona Rosa, de quem precisava de conselhos. No entanto, essa tal
pombagira ainda não havia chegado. Ninguém sabia ao certo quando e como ela viria.
Contudo, ela veio, ainda que bem mais tarde ao longo do evento. Ela fez o corpo de um
garoto negro chamado Edimilson tremer violentamente durante a sua chegada. Dona
Rosa chegara quase ao mesmo tempo que os primeiros raios de sol começaram a
penetrar através do ar enfumaçado preso no barracão. Naquele momento, Samira
começou a tremer um pouco também. Uma possessão inesperada? Samira sorriu e me
disse que estava muito ansiosa para consultar-se com Dona Rosa.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
217
21 Aquela pombagira nos ignorou por muito tempo, fazendo minha amiga ficar ainda mais
apreensiva. Eu aconselhei Samira a ir atrás de Dona Rosa. Entretanto, por respeito, ela
preferiu esperar por sua vez de conversar com a entidade. Quando Dona Rosa
finalmente se aproximou de nós, pegou Samira logo pela mão e a levou para fora da
casa. Fiquei um pouco apreensivo, imaginando para onde Samira fora levada. Depois de
um bom tempo, Samira voltou para meu lado, trazendo com ela uma lista de materiais
que precisava comprar para fazer uma oferenda, a qual deveria ser colocada em alguma
encruzilhada entre a favela e o bairro vizinho, de classe média alta, chamado São
Conrado. Dona Rosa havia dado instruções exatas a Samira sobre como agradar a Exu e,
em troca, obter o que fosse que minha amiga havia pedido.
Confusão ontológica: experiências e compreensões
22 Será que eu estava confuso naquela noite por conta das minhas limitações para
entender aquela realidade? Ou será que de fato formas definidas de confusão estavam
sendo produzidas tanto para mim quanto para outros participantes desse episódio? Foi
confusão generalizada ou confusão sob uma forma específica que experimentamos? Se
tivesse sido alguma confusão específica, em que contexto surgira? Quais são as ordens
mantidas por Exu e Pombagira e quais ordens são desafiadas? Quais as condições de
possibilidade para que uma confusão possa emergir de uma forma distinta? Que formas
de confusão podem ser particularmente reconhecidas numa festa de umbanda na favela
da Rocinha? Quais são as lutas e conflitos de poder que legitimariam a existência de
certas confusões? Quais as confusões que certas ordens normativas de classe,
sexualidade e religiosidade prefeririam evitar?
23 As religiões afro-brasileiras floresceram a despeito de um contexto opressivo de
escravidão e racismo no país. Na busca de respostas, torna-se importante questionar
quais os valores de ordem (e de confusão) que se esperam dos escravizados,
descendentes de escravizados e seus aliados no Brasil. Argumento que manter a ordem
em uma estrutura de poder em que os negros são confinados aos níveis mais baixos da
existência social não é algo de igual interesse para escravizados e para seus algozes.
Atualmente, na Rocinha, os praticantes de religiões de matriz africana não podem ser
identificados de maneira simplista por meio de um determinado grupo racial. 7 No
entanto, a presença histórica de Exu no panteão afro-brasileiro, como o deus de todos
os acordos e desacordos, senhor de todos os caminhos e encruzilhadas, mestre de toda a
ordem e confusão, parece ter sido profundamente valorizada nas cosmologias das
religiões afro-brasileiras, entre outras razões, pelo poder de ruptura que exus e
pombagiras oferecem diante de uma ordem social opressiva. Em diferentes partes da
África, como no Benim e no Togo, a existência de outras divindades do tipo trickster, em
muitos aspectos semelhantes a Exu (que é originalmente uma figura do panteão
iorubá), já foi destacada e discutida na literatura antropológica por autores como Augé
(1978). Em um texto sobre “inversão de signos”, esse autor descreve uma divindade no
Togo que é celebrada por “proibir proibições” para suas sacerdotisas, causando assim
muita confusão (e ao mesmo tempo prosperidade), desafiando estruturas sociais
opressivas, nomeadamente aquelas estruturas relacionadas a dimensões de gênero, no
Sudeste do Togo.
24 No Brasil, há registros históricos sobre a aversão e o medo que os chamados “senhores
de escravos” demonstravam em resposta à adoração de Exu pelos negros (Prandi 2001).
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
218
Até hoje, na Rocinha existe um forte preconceito contra as religiões de matriz africana
e seus praticantes, vindo sobretudo de membros de igrejas evangélicas, como era o caso
de alguns dos meus vizinhos na favela. Parte da dimensão política que informa atos de
reconhecimento da confusão enquanto forma definida se revela quando interrogamos o
contexto de ordem contra o qual “uma confusão” pode surgir. Sugiro que grande
preocupação é gerada quando o poder de determinar qual confusão pode emergir em
uma ordem estabelecida não está mais sob o controle dos interessados em manter o
status quo (tratando-se também de classe ou de gênero, por exemplo). Não é
surpreendente, portanto, que a existência de Exu como entidade capaz de desafiar
estruturas normativas estabelecidas por uma história colonial de opressão e de domínio
de valores cristãos tenha levado à demonização de Exu e Pombagira, tanto no Brasil
quanto em muitas partes da África (Rodrigues 1935; Souza 1986; Prandi 2001).
25 Para além do meu sentimento generalizado, uma das formas mais claras de confusão
que eu experimentei naquela noite com o grupo PAFYC foi a confusão ontológica de
existências que poderiam ser divididas entre divinas e profanas, pela presença de
divindades no barracão e a presença de seres que, mesmo como médiuns, também
faziam parte da festa enquanto humanos. Acostumado a uma ordem na qual a relação
entre o corpo e a pessoa tende a ser mais estável (e até mesmo considerada
inextrincável por alguns), era extremamente difícil para mim não ficar confuso quando
meu amigo Amendoim já não estava presente na festa, embora seu corpo estivesse
dançando bem na minha frente.8 Mais confuso ainda era falar com aquele corpo
sabendo que era na verdade pombagira Ciganinha quem estava falando comigo. A
diferença do vestuário de Amendoim (que usava uma blusa branca, shorts em jeans e
chinelos azul claro) e da pombagira Ciganinha (toda vestida de preto e vermelho,
usando uma bandana colorida e dançando descalça), certamente, ajudava a entender o
processo de transformação. Contudo, embora eu pudesse distinguir Ciganinha e
Amendoim em alguns momentos, não era fácil para mim entender que meu amigo não
estava mais fisicamente presente, como insistia Samira. De acordo com ela, Amendoim
tinha sido transformado em uma outra entidade que não ele. A transformação das
vestimentas era necessária, e ajudava meu entendimento da situação, contudo a
mudança nesses elementos não se mostrava suficiente para evitar que ocorresse uma
forma específica de confusão ontológica (entre corpos, pessoas e outras entidades).
26 Samira parecia muito mais certa em seus julgamentos sobre quem estava exatamente
presente no barracão em um dado momento. Quando exu Caveira possuiu nosso amigo
Peterson, por exemplo, ela comentara sem hesitação: “Oh, Peterson se foi!” Ela também
parecia ter reconhecido muito mais claramente o momento em que a pombagira Dona
Rosa tinha chegado e quando ela tinha deixado o terreiro. Ao mesmo tempo, Samira
parecia reconhecer uma outra forma específica de confusão, que eu não tinha
identificado muito precisamente. As possessões (ou as transformações) pelas entidades
não aconteciam instantaneamente, era comum que os corpos demonstrassem sinais
visíveis de transformação por algum período de tempo. Durante este período de
transição, mesmo Samira assumia que existia alguma confusão quanto à natureza das
entidades que estavam diante de nós. Geralmente, era nessa fase de “limbo” que os
corpos tremiam violentamente e a espinha dorsal, as pernas, os braços e até mesmo os
dedos dos médiuns começavam a contorcer-se. Além disso, os olhos normalmente se
fechavam e as bocas ficavam deformadas. Particular atenção era dada aos médiuns que
pareciam sofrer mais durante esse processo de transformação. Quando uma senhora
mais velha caiu de joelhos logo atrás de mim naquela noite, foi Samira quem cuidou
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
219
dela primeiro. Quando outras pessoas correram para ajudar uma moça pálida, Samira se
levantou e me disse: “Ela está virando!” Ainda me lembro de ter perguntado: “Virando
no quê?” Ao que Samira respondeu: “Como é que vou saber já? Ainda está chegando!”
Minutos depois, ouvimos a mesma moça rindo em voz alta e pedindo uma capa e um
chapéu. Samira então sabia que tinha sido algum exu que acabara de chegar no
barracão. Restava ainda alguma confusão, no entanto, sobre o tipo exato de exu que
havia chegado. Essa informação complementar, muitos não saberiam com certeza até
muito mais tarde durante a noite, até que a entidade tivesse dançado um pouco, bebido
alguma coisa e então decidisse que estava na hora de apresentar-se ao público presente.
27 Retomando a discussão sobre inversão de gênero durante o Carnaval no Brasil (DaMatta
1991), nas festas religiosas de matriz africana, as práticas diárias de gênero também
parecem sofrer uma certa inversão: em alguns momentos homens vestem-se como
mulheres e vice-versa. Além disso, assim como no Carnaval, pessoas com menos
escolaridade passam a ser respeitadas como especialistas (especialistas em curas, por
exemplo), os pobres tornam-se ricos (portando roupas de rendas caras ou bebendo em
abundância). No entanto, é preciso tratar possíveis comparações com muito cuidado, há
muitas diferenças importantes entre a confusão que acontece durante o Carnaval e a
confusão criada durante os rituais afro-brasileiros. Por exemplo, a forte presença de
Exu na cosmologia da umbanda oferece a possibilidade, para os praticantes dessa
religião, de atingirem uma transformação muito mais radical da ordem cotidiana. O
Carnaval, com seu forte histórico cristão, não parece oferecer possibilidades na mesma
dimensão.
28 Explicitando um pouco mais o argumento acima, para aqueles familiarizados com a
umbanda e que reconhecem os poderes transformadores de Exu, a gira não é
simplesmente um momento de confusão geral de normas sociais, ou de violação de
normas de conduta humanas que continuam válidas, ainda que momentaneamente
confundidas. Nas celebrações de Exu, há uma transformação da própria ordem
existencial (não apenas semântica) e da própria base epistemológica a partir da qual
torna-se possível fazer considerações ontológicas. Por ontologia, entende-se
exatamente esse tipo de atenção às questões sobre a existência em si, para além das
questões sobre significado ou moralidade. Argumento que há também uma
transformação do próprio contexto contra o qual o reconhecimento de uma confusão,
como forma definida, pode ser feito. Assim sendo, Amendoim não era, de maneira
simplista, um homem vestido como mulher para participar da festa de Pombagira e
criar alguma confusão na ordem humana de gêneros. Parece-me mais apropriado
considerar as complexidades no argumento dos meus amigos do PAFYC. Portanto, em
uma chave menos familiar, devido aos poderes da Pombagira, Amendoim deixa de
existir enquanto homem porque ele deixa de existir enquanto pessoa humana – ainda
que temporariamente. A transformação aqui não é simplesmente de gênero dentro do
espectro da socialidade humana, e sim, mais radicalmente, uma transformação
ontológica entre um ser humano e uma entidade de umbanda (ainda que seja uma
entidade de gênero feminino). Seria exatamente a atualização dessa possibilidade
ontológica produzida na festa de Exu que demandaria o uso de roupas diferentes para a
pombagira. Afinal, não se trata de qualquer traje feminino, faz-se necessário portar um
traje feminino apropriado para cada entidade específica.
29 No Carnaval, a confusão geralmente adquire forma através de pessoas humanas que
invertem algumas regras estabelecidas, incluindo regras estabelecidas por entidades
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
220
divinas, em antecipação à chegada do período da Quaresma. Na confusão criada nas
festas de umbanda, são as próprias entidades que mudam as condições de possibilidade
de reconhecimento da existência da ordem e da confusão. Enquanto algumas pessoas
experimentam uma sensação de confusão generalizada nesses eventos de umbanda,
assim como eu quando comecei a frequentá-los, outros podem estar em sintonia muito
maior com as formas específicas de confusão engendradas por Exu e Pombagira. As
transformações de ordem efetuadas por essas entidades são diferentes daquelas
proporcionadas por pessoas humanas durante o Carnaval. Uma apreciação dessas
significativas diferenças na definição e no reconhecimento de confusões é fundamental
– uma multiplicidade de confusões específicas, como as que acontecem na Rocinha,
merecem tratamento etnográfico detalhado e aprofundado.
30 Muitos dos meus amigos do PAFYC que estavam comigo naquela festa de Exu na
Rocinha, em 2009, entendem que os princípios fundamentais de ordem no mundo em
que vivem são passíveis de transformações estruturantes. Mesmo que os seres humanos
nem sempre sejam capazes de efetuar tais transformações mais profundas, Exu e
Pombagira possuem tal poder. A realização de oferendas, por exemplo, é considerada
forma eficaz de agradar essas entidades, na esperança de convencê-las a atualizar uma
transformação desejada que talvez estivesse fora do alcance dos humanos. Ao mesmo
tempo, meus amigos também explicavam que Exu é o “rei da malandragem”, portanto,
age de acordo com seus próprios desejos.9 Em todo caso, pode-se afirmar que o
reconhecimento da existência da ordem e da confusão por parte desse grupo de amigos
da Rocinha frequentemente acontecia de maneira diferente da minha (enquanto recém-
chegado) e, certamente, de maneira bastante diferente da dos meus amigos evangélicos
moradores da mesma favela.
Confusão do Diabo
31 Evangélicos neopentecostais, a maioria dos meus vizinhos na favela, costumavam fazer
uso de uma base epistemológica diferente para considerações ontológicas sobre a
confusão. Paizinha, por exemplo, sempre conversava muito comigo na escola onde
costumávamos lecionar na Rocinha: eu ensinando inglês e ela português. Ela estava na
casa dos 40 anos e tinha duas filhas adolescentes. Por meio de nossas frequentes
interações, eu logo comecei a perceber que para Paizinha os fundamentos de
organização do mundo eram considerados verdades absolutas, imutáveis, e reveladas
por Deus através da Bíblia. Ao contrário de muitos católicos e dos praticantes das
religiões de matriz africana que eu havia conhecido, a maioria dos meus amigos
evangélicos na favela simplesmente recusavam-se a celebrar confusões, fossem elas
humanas ou não humanas. Particularmente, muitos desses evangélicos não gostavam
das celebrações de Carnaval na cidade do Rio de Janeiro e muitos pregavam
abertamente contra as confusões que aconteciam no Carnaval. Paizinha e família
passaram o Carnaval de 2010 isolados, em um retiro com outros membros de sua Igreja.
Nas explicações que davam, argumentavam que as confusões de Carnaval nada mais
eram do que pecados, ofensas aos mandamentos da Bíblia. Igualmente pecaminosas
seriam as práticas religiosas da umbanda. Descreviam Exu e Pombagira como demônios,
ambos reconhecidos como a mesma entidade demoníaca, que se usava de confusão para
se fazer passar por entidades diferentes. Do ponto de vista desses evangélicos, as
transformações engendradas por Exu e Pombagira eram tão profundamente
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
221
pecaminosas, que em um dos cultos o pastor as usou como prova da própria existência
do mal. Ana Maria, uma professora de escola primária que conhecia, costumava dizer:
“Exu? Isso é o Diabo querendo enganar as pessoas! Ele quer se passar como se fosse um
deus! Ah, como ele é sujo!” Havia, inclusive, todo um repertório usado por meus
vizinhos para identificar e descrever ocorrências de confusões específicas
proporcionadas pelo demônio na vida das pessoas. Por exemplo, os chamados “laços do
Diabo”, armadilhas e confusões preparadas pelo Diabo, eram objeto de grande
preocupação e assunto para longas conversas no cotidiano dos meus vizinhos
evangélicos.
32 Existe uma diversidade de considerações epistemológicas a partir das quais diferentes
moradores da favela reconhecem confusões específicas. Não estou sugerindo que
praticantes das religiões afro-brasileiras são capazes de reconhecer (enquanto
existência em si, não apenas enquanto sentido) apenas as formas particulares de
confusão proporcionadas por Exu, ou que os meus amigos evangélicos não são capazes
de reconhecer e, possivelmente, apreciar algumas formas particulares de confusão. No
entanto, muitos desses evangélicos argumentavam que era a Bíblia que deveria
determinar a verdade sobre a ordem certa das coisas, ainda que o Diabo tivesse
construído uma ordem paralela. Para marcar a diferença de legitimidade entre a ordem
de Deus e a ordem estabelecida pelo Diabo, a ordem de Deus era reconhecida como a
verdadeira ordem, o resto era apenas uma confusão do Diabo. Grupos diferentes de
moradores da Rocinha costumavam recorrer a diferentes repertórios para o
reconhecimento de formas concretas de confusão. Com base nas minhas explorações
etnográficas, sugere-se que um repertório que pode ser considerado “religioso” possui
bastante influência na forma como pessoas diversas são capazes de reconhecer, e de
julgar, moralmente, diferentes instâncias de confusão em domínios que ultrapassam em
muito o dito “religioso”.
33 Por vezes, meus vizinhos evangélicos perguntavam-me sobre as minhas incursões em
terreiros na Rocinha. Ficavam curiosos sobre o que exatamente eu esperava obter com
minhas experiências na umbanda. Certa vez, um dos meus amigos evangélicos me
perguntou literalmente: “Vai fazer o que naquela confusão do diabo?” Em outro
episódio, ouvi uma velha senhora branca de cabelos negros dizer com bastante raiva e
racismo: “Essa tal umbanda é uma bagunça de preto!” No Brasil, há uma famosa
composição feita pelo escritor satírico Sérgio Porto em 1968, intitulada “Samba do
Crioulo Doido”. Escrita durante a ditadura militar no Brasil, a letra desse samba é uma
crítica velada de Porto contra a censura do governo militar, que pretendia controlar os
temas adequados para as músicas de Carnaval. Em certo período, os militares haviam
limitado esses temas a eventos históricos factuais. Em suas letras de música, Porto faz
referência a acontecimentos históricos brasileiros factuais, porém ele os combina de
forma escandalosamente confusa. Argumentava-se que a música de Porto atendia às
exigências de censura do governo militar. Ao mesmo tempo, era notório que as letras
eram absolutamente desprovidas de ordem cronológica, o que provocava bastante
confusão, a tal ponto que um dos títulos de suas composições terminou permanecendo
como parte integrante do repertório brasileiro sobre a confusão: “Samba do Crioulo
Doido”. Certamente, Porto exibe habilidade admirável ao apropriar-se das normas de
um regime ditatorial, em um governo militar, e transformá-las em regras de
composição criativa.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
222
Laroiê Exu! Exu omojubá!
34 Mazinho havia me convidado para jantar com ele naquela noite chuvosa. Mesmo
andando rápido por entre becos e vielas, terminei chegando um pouco atrasado para
nosso encontro. Ele havia esperado por mim paciente e alegre, tratou minha demora
como uma situação ordinária. No cardápio para o jantar, arroz branco, carne e alface,
com salada de tomates. Fofocávamos sobre o novo namorado da mãe de Mazinho. Ao
mesmo tempo, a televisão estava ligada no volume máximo perto de nossa mesa,
passando a novela das 8 horas. De repente, o telefone fixo da casa tocou e Mazinho
correu para atender à ligação. Ele começou a falar comigo e com a pessoa do outro lado
da linha simultaneamente. Fiquei muito confuso, tentando entender o que Mazinho
estava falando. Quando desligou o telefone, continuou uma conversa sobre a filha do
vizinho que estava grávida. Eu tinha perdido o momento exato em que o assunto havia
mudado, o que não parecia ser problema algum para Mazinho. Ele continuava falando.
Ele cortou um pedaço de carne malpassada e o levou à boca. No meio de todo o barulho,
ainda consegui ouvir o som do garfo caindo no chão. Olhei e nenhum grão havia
chegada à boca de Mazinho. Ele parou de falar por um instante, levantou-se de sua
cadeira e colocou-se a olhar fixamente, muito sério, para o garfo no chão. Bateu palmas
estaladas por três vezes seguidas, saudando Exu em reconhecimento àquela confusão.
“Laroiê Exu! Exu omojubá!”, gritava Mazinho.
35 Muitos dos meus amigos evangélicos viviam a favela como um lugar cheio de confusões,
violações de leis e desvios morais. Portanto, um lugar muito mais perto do Inferno do
que do Céu. Enquanto isso, muitos dos meus amigos queer e umbandistas pareciam
deleitar-se em confusões que eles reconheciam, e também causavam, em suas vidas
diárias. Quando os ordenamentos são potencialmente suscetíveis a transformações, o
valor da distinção entre o que conta como práticas normativas e não normativas
também pode confundir-se. Muitas vezes, ouvi de membros do PAFYC que morar na
Rocinha era muito bom, porque havia movimento, episódios engraçados e muitas
confusões. Quando entendidas como parte dos trabalhos de Exu, confusões têm o poder
de fazer algumas pessoas (tanto evangélicos quanto umbandistas) reconhecerem a força
dos não humanos em suas vidas diárias. Juntamente com esse reconhecimento, surge a
oportunidade de lembrar que a existência de confusões é complexa e variada, assim
como o são as vidas que coexistem e interligam-se na favela. Por esse e outros motivos,
uma exploração etnográfica cuidadosa se faz necessária para ampliar nossa apreciação
da dificuldade de lidar com o tema da confusão na antropologia.
Receção da versão original / Original version
2017 / 05 / 03
Receção da versão revista / Revised version
2018 / 09 / 16
Aceitação / Accepted 2019 / 01 / 29
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
223
BIBLIOGRAFIA
AUGÉ, Marc, 1978, “Quand les signes s’inversent”, Communications, 28: 55-67.
BIRMAN, Patrícia, 1995, Fazer Estilo Criando Gênero: Possessão e Diferenças de Gênero em Terreiros de
Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, EdUERJ/Relume Dumará.
DAMATTA, Roberto, 1991, Carnivals, Rogues, and Heroes: An Interpretation of the Brazilian Dilemma.
Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press.
HAYES, Kelly E., 2011, Holy Harlots: Femininity, Sexuality and Black Magic in Brazil. Berkeley, e Los
Angeles, CA, University of California Press.
LINO E SILVA, Moisés, 2015, “Ontological confusion: Eshu and the Devil dance to The Samba of the
Black Madman”, Social Dynamics, 41 (1): 34-46.
PRANDI, Reginaldo, 2001, Mitologia dos Orixás. São Paulo, Companhia das Letras.
RODRIGUES, Nina, 1935, O Animismo Fetichista dos Negros Bahianos. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira.
SOUZA, Laura de Mello e, 1986, O Diabo e a Terra de Santa Cruz. São Paulo, Companhia das Letras.
TURNER, Victor, 1967, The Forest of Symbols. Ithaca, NY, Cornell University Press.
VAN DE PORT, Mattijs, 2007, “Candomblé in pink, green and black: re-scripting the Afro-
Brazilian. religious heritage in the public sphere of Salvador, Bahia”, Social Anthropology, 13 (1):
3-26.
VAN GENNEP, Arnold, 1960, The Rites of Passage. Chicago, IL, The University of Chicago Press.
VILAÇA, Aparecida, 2005, “Chronically unstable bodies: reflections on Amazonian corporalities”,
Journal of the Royal Anthropological Institute, 11 (3): 445-464.
NOTAS
1. Partes significativas deste artigo são baseadas em Lino e Silva (2015).
2. P., A., F., Y. e C. eram as iniciais dos nomes dos fundadores desse grupo de amigos adolescentes.
Quando os conheci, o número de membros já estava nas dezenas. Em comum, identificavam-se
através de uma série de categorias não normativas de gênero e sexualidade: “viados”, “bichas”,
“monas”, “flex”, “bi”, “sapatas”, “travas”, dentre outras.
3. Para uma discussão mais elaborada sobre a relação de sexualidades não normativas e o
candomblé, ver, por exemplo, Van de Port (2007).
4. De acordo com Censo Demográfico realizado em 2010, apenas 0,3% da população brasileira
declarou praticar uma das religiões de matriz africana. De forma alguma faço um argumento aqui
sobre a prevalência geral de apenas dois grupos religiosos na Rocinha, antes, utilizo-me da
posicionalidade de meus encontros etnográficos na favela como pontos de imersão para minha
análise.
5. Os trabalhos de Patrícia Birman (1995) e Kelly Hayes (2011), ambos baseados no Brasil,
exploram em maior profundidade essa faceta particular das confusões geradas nas ordens de
gênero e sexualidade na umbanda, candomblé e, ainda, na chamada “magia negra”.
6. Nesse contexto, “consubstanciar-se em uma entidade” talvez seja o sinônimo mais preciso para
explicar o sentido de “virar no santo” na fala de Samira.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
224
7. Seria possível argumentar que há muitos evangélicos negros e também praticantes de religiões
de matriz africana considerados brancos, por exemplo. No entanto, a “negritude” em questão
poderia ser de uma ordem diferente.
8. Para uma discussão mais aprofundada das relações entre corpo e alma, humanidade e
corporalidade, em um contexto brasileiro diferente, ver Vilaça (2005).
9. Embora alguns amigos da Rocinha também afirmassem que Exu não tinha vontade própria,
sendo simplesmente o mensageiro de outras entidades.
RESUMOS
Argumenta-se que repertórios de saberes “religiosos” facilitam o reconhecimento e a
compreensão de uma grande variedade de instâncias (ontológicas) de confusão. O método
utilizado na investigação é etnográfico e recursivo. Parte da confusão que se manifesta na própria
capacidade de reconhecer uma confusão deriva justamente da condição de que não há posição
epistemológica fixa ou neutra para servir como base a partir da qual seria possível arbitrar com
imparcialidade sobre a existência de confusões enquanto formas imanentes. Na tentativa de
entender melhor os modos em que a confusão existe na vida diária de alguns amigos na Rocinha,
descrevo e analiso eventos que vivi durante uma festa de Exu em um terreiro de umbanda.
Discuto, ainda, episódios vividos com vizinhos evangélicos na favela. Discorro sobre as lutas e os
conflitos de poder que asseguram ou negam a existência e o reconhecimento de confusões
diversas: por exemplo, no campo da sexualidade, das doutrinas religiosas e dos conflitos de
classe. Demonstro que o poder de perturbação que Exu e Pombagira oferecem contra uma ordem
social opressora torna-se bastante importante em situações de discriminação. Sugere-se que
parte da dimensão política que informa atos de reconhecimento da confusão enquanto forma
específica é revelada ao interrogarem-se e confundirem-se contextos de ordem contra os quais
“uma confusão” pode surgir.
Religious grammars of confusion may enable the recognition and understanding of a wide variety
of other (ontological) forms of confusion in the daily life of different groups living in Favela da
Rocinha, Rio de Janeiro. The method used in this investigation is ethnographic and recursive.
Part of the confusion manifested in the capacity to recognise “a confusion” derives exactly from
the fact that there is no fixed or neutral epistemological position that would serve as a basis to
decide accurately about the existence of confusion as a form. I describe and analyse particular
events that I experienced during an Afro-Brazilian (Umbanda) religious celebration and other
more quotidian episodes with a different group: my Evangelical friends. What are the struggles
and conflicts of power that warrant the existence of certain confusions? What confusions would
normative sexual, religious and class-based orders rather prevent? I argue that the disruptive
power that Eshu and Pombagira offer against an oppressive social order is part of the political
dimension that informs acts of recognition of confusion as a form, revealed when we interrogate
and confuse the context of order against which “a confusion” may emerge.
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
225
ÍNDICE
Palavras-chave: confusão, Exu, favela, ontologia, religião
Keywords: Brazil, confusion, favela, ontology, religion
AUTOR
MOISÉS LINO E SILVA
Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil
moises.lino@ufba.br
Etnográfica, vol. 23 (2) | 2019
Você também pode gostar
- A História Nos Porões Dos Arquivos JudiciariosDocumento11 páginasA História Nos Porões Dos Arquivos JudiciariosNila Michele Bastos SantosAinda não há avaliações
- Minhas Coordenadas: memórias de Clara Kardonsky PolitiNo EverandMinhas Coordenadas: memórias de Clara Kardonsky PolitiAinda não há avaliações
- A História Nos Porões Dos Arquivos Judiciários - GrinbergDocumento23 páginasA História Nos Porões Dos Arquivos Judiciários - GrinbergEVANDRO RIBEIROVISKY100% (2)
- O Processo Criminal de Resende - 1858Documento13 páginasO Processo Criminal de Resende - 1858Nila Michele Bastos SantosAinda não há avaliações
- CriminologiaDocumento63 páginasCriminologiaHelder AraujoAinda não há avaliações
- Bruxaria e Satanismo No Estado Do ParanáDocumento3 páginasBruxaria e Satanismo No Estado Do ParanáRICCI REPRESENTAÇOESAinda não há avaliações
- História Da Repressão As Multiplas Sexualidades Indigena No Brasil ColonialDocumento10 páginasHistória Da Repressão As Multiplas Sexualidades Indigena No Brasil ColonialAdriano Santos SilvaAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Ceará: Centro de Humanidades Departamento de Ciências Sociais Curso de Ciências SociaisDocumento5 páginasUniversidade Federal Do Ceará: Centro de Humanidades Departamento de Ciências Sociais Curso de Ciências SociaisNicholas PinheiroAinda não há avaliações
- ARQUIVO Artigo-AnpuhDocumento11 páginasARQUIVO Artigo-AnpuhALCIONEK1Ainda não há avaliações
- TCC Ver. 18Documento12 páginasTCC Ver. 18Isabela SilvaAinda não há avaliações
- Páscoa Vieira Diante Da Inquisição by Charlotte de Castelnau-LEstoileDocumento220 páginasPáscoa Vieira Diante Da Inquisição by Charlotte de Castelnau-LEstoileRenan BrantesAinda não há avaliações
- Novelas Sangrentas - Literatura de Crime No Brasil (1870-1920)Documento324 páginasNovelas Sangrentas - Literatura de Crime No Brasil (1870-1920)Rafael GuimarãesAinda não há avaliações
- Suzane - Assassina e Manipulador - Ullisses CampbellDocumento300 páginasSuzane - Assassina e Manipulador - Ullisses CampbellMarvel Torneio Brasil100% (2)
- Inquisição e Homossexualidade Na ColôniaDocumento13 páginasInquisição e Homossexualidade Na ColôniaFrancimar OliveiraAinda não há avaliações
- As Cartas de Um DetentoDocumento3 páginasAs Cartas de Um DetentoImanuel JuniorAinda não há avaliações
- A Síndrome do Amor Bandido: Hibristofilia: o amor e a prisão de estar em liberdadeNo EverandA Síndrome do Amor Bandido: Hibristofilia: o amor e a prisão de estar em liberdadeAinda não há avaliações
- Um Crime CélebreDocumento24 páginasUm Crime CélebrePatricia SaoriAinda não há avaliações
- Eufrásia e Francisca: As Irmãs Teixeira Leite e o Seu Tempo – Uma História RomanceadaNo EverandEufrásia e Francisca: As Irmãs Teixeira Leite e o Seu Tempo – Uma História RomanceadaAinda não há avaliações
- Um Caso de Feitiçaria Na Inquisição de Pernambuco - Tatiane TrigueiroDocumento148 páginasUm Caso de Feitiçaria Na Inquisição de Pernambuco - Tatiane TrigueiroJAM100% (2)
- Jongo e Memória Pós-Colonial uma Luta QuilombolaNo EverandJongo e Memória Pós-Colonial uma Luta QuilombolaAinda não há avaliações
- Vozes da Loucura: alguns aspectos psicológicos em obras de Clarice Lispector, Goliarda Sapienza e Elvira SeminaraNo EverandVozes da Loucura: alguns aspectos psicológicos em obras de Clarice Lispector, Goliarda Sapienza e Elvira SeminaraAinda não há avaliações
- O feminino pelos olhos de demonólogos espanhóis dos séculos XVI E XVIINo EverandO feminino pelos olhos de demonólogos espanhóis dos séculos XVI E XVIIAinda não há avaliações
- Ares de Vingança: Redes Sociais, Honra Familiar e Práticas de Justiça Entre Imigrantes Italianos No Sul Do Brasil (1878-1910)Documento479 páginasAres de Vingança: Redes Sociais, Honra Familiar e Práticas de Justiça Entre Imigrantes Italianos No Sul Do Brasil (1878-1910)Camila WolpatoAinda não há avaliações
- Entre o Bairro e A PrisaoDocumento233 páginasEntre o Bairro e A Prisao문라움Ainda não há avaliações
- Psicanálise e Direito - Um Estudo Sobre Violência DomésticaDocumento21 páginasPsicanálise e Direito - Um Estudo Sobre Violência DomésticaValéria DiasAinda não há avaliações
- A mulher por trás das grades: patriarcalismo e sedução do consumo nos discursos das presidiáriasNo EverandA mulher por trás das grades: patriarcalismo e sedução do consumo nos discursos das presidiáriasAinda não há avaliações
- Imigração italiana na colônia de Silveira Martins: cotidiano, deslocamento, cultura e sociabilidade (Rio Grande do Sul, 1877-1920)No EverandImigração italiana na colônia de Silveira Martins: cotidiano, deslocamento, cultura e sociabilidade (Rio Grande do Sul, 1877-1920)Ainda não há avaliações
- História Moderna - Estudo Dirigido - Moderna - O Queijo e Os VermesDocumento6 páginasHistória Moderna - Estudo Dirigido - Moderna - O Queijo e Os VermesAlexandre DrewsAinda não há avaliações
- Aquela Neguinha Atrevida Lelia GonzalezDocumento22 páginasAquela Neguinha Atrevida Lelia GonzalezFernandoAinda não há avaliações
- História e Sexualidade No BrasilDocumento108 páginasHistória e Sexualidade No BrasilLuciAraújoBeauvoirAinda não há avaliações
- Morte Biblioteca NagDocumento61 páginasMorte Biblioteca Nagjdr.carloseduardoAinda não há avaliações
- O Espiritismo, a magia e as Sete Linhas de UmbandaNo EverandO Espiritismo, a magia e as Sete Linhas de UmbandaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- As prisões e os arquivos prisionais:: a vida e o destino dos detentos do Presídio do Serrotão em Campina Grande, PB (1991-2012)No EverandAs prisões e os arquivos prisionais:: a vida e o destino dos detentos do Presídio do Serrotão em Campina Grande, PB (1991-2012)Ainda não há avaliações
- SILVA, Carolina Rabelo Moreira Da. Francisco José Viveiros de Castro - Sexualidade, Criminologia e Cidadania No Fim Do Século XIXDocumento127 páginasSILVA, Carolina Rabelo Moreira Da. Francisco José Viveiros de Castro - Sexualidade, Criminologia e Cidadania No Fim Do Século XIXCamila OliveiraAinda não há avaliações
- Cacos de sonhos: Cartas de uma ex-prisioneira na Vila Militar (1971-1974)No EverandCacos de sonhos: Cartas de uma ex-prisioneira na Vila Militar (1971-1974)Ainda não há avaliações
- Dos dois lados do Atlântico: redes migratórias de italianos em FrancaNo EverandDos dois lados do Atlântico: redes migratórias de italianos em FrancaAinda não há avaliações
- Hipnotismo e MediunidadeDocumento417 páginasHipnotismo e MediunidadeIygar NunesAinda não há avaliações
- Contribuicoes Da Psicopatologia Fundamental para A CriminologiaDocumento18 páginasContribuicoes Da Psicopatologia Fundamental para A CriminologiasirlanfragaAinda não há avaliações
- LEWIS, Maybury. Maybury-Lewis Por Maybury-LewisDocumento11 páginasLEWIS, Maybury. Maybury-Lewis Por Maybury-LewisJosé Antonio M. AmeijeirasAinda não há avaliações
- TEMA 3. TEXTO 1. O Padre e As FeiticeirasDocumento6 páginasTEMA 3. TEXTO 1. O Padre e As FeiticeirasLiAAinda não há avaliações
- História Da Homossexualidade No BrasilDocumento21 páginasHistória Da Homossexualidade No BrasilGiovane GusmãoAinda não há avaliações
- Liberdade a Dois: Democracia nos Relacionamentos ContemporâneosNo EverandLiberdade a Dois: Democracia nos Relacionamentos ContemporâneosAinda não há avaliações
- Relatório de Aula de Campo de Geografia CulturalDocumento5 páginasRelatório de Aula de Campo de Geografia CulturalNatalia CoutoAinda não há avaliações
- 6 - A História de Pierina SubjetividadeDocumento5 páginas6 - A História de Pierina Subjetividaderenangeoviva100% (2)
- Feitiçaria e Imaginário No Maranhão SetecentistaDocumento13 páginasFeitiçaria e Imaginário No Maranhão SetecentistaAllan Richardson Anacleto DantasAinda não há avaliações
- História Do Cárcere e Histórias de CárcereDocumento77 páginasHistória Do Cárcere e Histórias de CárcereMiguel Tadeu VicentimAinda não há avaliações
- Os Pombos da Senhora Alice: Um retrato sobre os idososNo EverandOs Pombos da Senhora Alice: Um retrato sobre os idososAinda não há avaliações
- 8 Ano Ensino ReligiosoDocumento14 páginas8 Ano Ensino Religiosojpaulomuniz1996Ainda não há avaliações
- Traduções Do Intraduzível - A Semiótica Da Cultura e o Estudo de Textos Religiosos Nas Bordas Da SemiosferaDocumento22 páginasTraduções Do Intraduzível - A Semiótica Da Cultura e o Estudo de Textos Religiosos Nas Bordas Da SemiosferaKellen Christiane RodriguesAinda não há avaliações
- Catalogo Livros 2018Documento146 páginasCatalogo Livros 2018Larissa GomesAinda não há avaliações
- Aula Pos Filosofia e Sociologia Educação Física Brasileira Entre 1980 (... )Documento20 páginasAula Pos Filosofia e Sociologia Educação Física Brasileira Entre 1980 (... )Gabriel Paes NetoAinda não há avaliações
- Trabalho Ernest TroeltschDocumento15 páginasTrabalho Ernest TroeltschGlauco KaizerAinda não há avaliações
- Fotografia e História Boris KossoyDocumento2 páginasFotografia e História Boris KossoyTiago Martins100% (1)
- Salmo 100Documento2 páginasSalmo 100Alex Luiz100% (1)
- Resenha Sobre o Filme "Ponto de Interrogação"Documento3 páginasResenha Sobre o Filme "Ponto de Interrogação"Nathália RonfiniAinda não há avaliações
- Aristarco PDFDocumento176 páginasAristarco PDFmarcoAinda não há avaliações
- A Geometria Da Formação Da ImagemDocumento43 páginasA Geometria Da Formação Da ImagemGiuliano Queiroga BuritiAinda não há avaliações
- (Feminismos Plurais) Carla Akotirene - InterseccionalidadeDocumento77 páginas(Feminismos Plurais) Carla Akotirene - InterseccionalidadePedroMedeiros100% (1)
- Livro Pulsão FreudianaDocumento314 páginasLivro Pulsão FreudianasheilafonsecaAinda não há avaliações
- Apostila - Português 1 PDFDocumento280 páginasApostila - Português 1 PDFBárbara Apolyanna100% (1)
- O Guia Do Usuário de Salvia DivinorumDocumento11 páginasO Guia Do Usuário de Salvia DivinorumJulia KollontaiAinda não há avaliações
- Espanhol - Caderno de Resoluções - Apostila Volume 3 - Pré-Universitário - Espanhol1 - Aula12Documento2 páginasEspanhol - Caderno de Resoluções - Apostila Volume 3 - Pré-Universitário - Espanhol1 - Aula12Concurso Vestibular Espanhol Spanish100% (1)
- A Historicidade de Jesus CristoDocumento40 páginasA Historicidade de Jesus CristoKellyo De Oliveira LimaAinda não há avaliações
- Atividade Geografia 1 AnoDocumento2 páginasAtividade Geografia 1 AnogeonoiaAinda não há avaliações
- Fisica Misticismo Paradigma Holografico - Ken WilberDocumento32 páginasFisica Misticismo Paradigma Holografico - Ken WilbersanpatriveAinda não há avaliações
- Sartre - Voltaire SchillingDocumento21 páginasSartre - Voltaire SchillingOsmar Contreiras0% (1)
- A Problematica Da Classificacao Da FraseDocumento13 páginasA Problematica Da Classificacao Da FraseBry PlanetAinda não há avaliações
- Faz Com As Tuas Próprias Mãos - Construção de TaumatrópiosDocumento2 páginasFaz Com As Tuas Próprias Mãos - Construção de TaumatrópiosViagem pela Ciência100% (4)
- Direito Administrativo - Fernanda MarinelaDocumento101 páginasDireito Administrativo - Fernanda MarinelaAurelio LouzadaAinda não há avaliações
- ListDocumento6 páginasListAnanda FreitasAinda não há avaliações
- Apostila de Telemarketing v1Documento79 páginasApostila de Telemarketing v1Marcellus GiovanniAinda não há avaliações
- Teoria Do RiscoDocumento18 páginasTeoria Do RiscoThiago Silveira100% (1)
- A Inversão Revolucionária em Ação - Olavo de CarvalhoDocumento2 páginasA Inversão Revolucionária em Ação - Olavo de Carvalhodarlanzurc646Ainda não há avaliações
- Projeto Político Pedagógico Emeb RamiroDocumento87 páginasProjeto Político Pedagógico Emeb RamiroGeralda Aparecida Dias100% (1)
- 23 Cantadas Pesadas para Você Conquistar o Crush de Vez CLAUDIADocumento1 página23 Cantadas Pesadas para Você Conquistar o Crush de Vez CLAUDIAz BlueYAinda não há avaliações
- Resumo As Limitações Do Método Comparativo Da AntropologiaDocumento2 páginasResumo As Limitações Do Método Comparativo Da AntropologiaElesion Do CarmoAinda não há avaliações
- Arte e Patrimônio Modernidade e TradiçãoDocumento67 páginasArte e Patrimônio Modernidade e TradiçãoBeto CavalcanteAinda não há avaliações