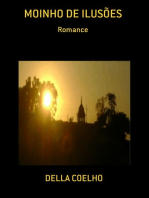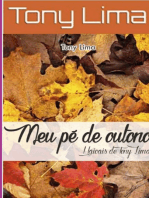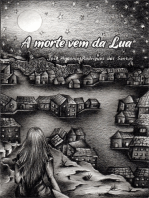Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LP - Crônicas 2
Enviado por
WesleyGalassiDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LP - Crônicas 2
Enviado por
WesleyGalassiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UMA LIÇÃO INESPERADA
No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e re-
ver os amigos. Acordou feliz da vida, tomou o café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi
ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara de Natal,
contou sobre sua viagem ao litoral. Depois ouviu as histórias dos amigos e divertiu-se com eles, o
coração latejando de alegria.
Aos poucos, foi matando a saudade das descobertas que fazia ali, das meninas ruído-
sas, do azul e branco dos uniformes, daquele burburinho à beira do portão. Sentia-se como um
peixe de volta ao mar.
Mas, quando o sino anunciou o início das aulas, Lilico descobriu que caíra numa clas-
se onde não havia nenhum de seus amigos. Encontrou lá só gente estranha, que o observava
dos pés à cabeça, em silêncio. Viu-se perdido e o sorriso que iluminava seu rosto se apagou.
Antes de começar, a professora pediu que cada aluno se apresentasse. Aborrecido, Lili-
co estudava seus novos companheiros.
Tinha um japonês de cabelos espetados com jeito de nerd. Uma garota de olhos azuis,
vinda do Sul, pareceu-lhe fria e arrogante. Um menino alto, que quase bateu no teto quando se
ergueu, dava toda a pinta de ser um bobo. E a menina que morava no sítio? A coitada co-
mia palavras, olhava-os assustada, igual a um bicho-do-mato. O mulato, filho de pescador, falava
arrastado, estalando a língua, com sotaque de malandro. E havia uns garotos com tatuagens
umas meninas usando óculos de lentes grossas, todos esquisitos aos olhos de Lilico.
A professora? Tão diferente das que ele conhecera...
Logo que soou o sinal para o recreio, Lilico saiu a mil por hora, à procura de seus antigos
colegas. Surpreendeu-se ao vê-los em roda, animados, junto aos estudantes que haviam
conhecido horas antes.
De volta à sala de aula, a professora passou uma tarefa em grupo. Lilico caiu com o
japonês, a menina gaúcha, o mulato e o grandalhão. Começaram a conversar cheios de cautela,
mas paulatinamente foram se soltando, a ponto de, ao fim do exercício, parecer que se
conheciam há anos.
Lilico descobriu que o japonês não era nerd, não: era ótimo em Matemática, mas ti-
nha dificuldade em Português. A gaúcha, que lhe parecera tão metida, era gentil e o mirava
ternamente com seus lindos olhos azuis. O mulato era um caiçara responsável, ajudava o pai
desde criança e prometeu ensinar a todos os segredos de uma boa pescaria. O grandalhão não
tinha nada de bobo. Raciocinava rapidamente e, com aquele tamanho, seria legal jogar basquete
no time dele.
Lilico descobriu mais. Inclusive que o haviam achado mal-humorado quando ele se
apresentara, mas já não pensavam assim. Então, mirou a menina do sítio e pensou no quan-
to seria bom conhecê-la. Devia saber tudo de passarinhos. Sim, justamente porque eram
diferentes havia encanto nas pessoas.
Se ele descobrira aquilo no primeiro dia de aula, quantas descobertas não haveria de fazer
no ano inteiro? E, como um lápis deslizando numa folha de papel, um sorriso se dese-
nhou novamente no rosto de Lilico.
Crônica de João Anzanello Carrascoza, ilustrada por Daisy Sartori
ESCORRENDO
Aos 5 anos de idade o mundo é esmagadoramente mais forte do que a gente. (Aos
30 também, mas aprendemos umas manhas que, se não anulam a desproporção, ao me-
nos disfarçam nossa pequenez.)
A ignorância não é uma bênção, é uma condenação: compreender a origem dos nos-
sos incômodos faz uma grande diferença. Mas como, com tão poucas palavras ao
nosso dispor?
Palavras são ferramentas que usamos para desmontar o mundo e remontá-lo dentro
da nossa cabeça. Sem as ferramentas precisas, ficamos a espanar parafusos com pon-
tas de facas, a destruir porcas com alicates.
Com 2 anos, meu nariz escorria sem parar na sala de aula. Eu não sabia assoar, nem
sequer sabia que existia isso: assoar. Apenas enxugava o que descia na manga do uni-
forme, conformado, até ficar com o nariz assado.
Lembro-me bem da sensação da meia sendo comida pela galocha enquanto eu anda-
va. A cada passo, ela ia se engruvinhando mais e mais na frente do pé, faltando no
calcanhar, e eu aceitava o infortúnio como se fosse uma praga r ogada pelos deuses, u-
ma sina. Não passava pela minha cabeça trocar de meia, desistir da galocha, pedir a-
juda aos adultos: a vida era assim, não havia o que fazer.
Numas férias, meu pai apareceu antes do combinado para pegar minha irmã e eu na
casa dos meus avós. Durante 400 quilômetros, falou que existiam pessoas boas e pessoas
más, que aconteciam coisas que a gente não conseguia entender, que mesmo as pes-
soas más podiam fazer coisas boas e as pessoas boas, coisas más. Já quase chegando a
São Paulo, contou que nosso vizinho, de 6 anos, tinha levado um tiro.
Naquela noite, enquanto as crianças da rua brincavam - mais quietas do que o
habitual, sob um véu inominável -, um dos garotos disse: "Bem-feito! Ele é muito chato".
Hoje, penso que pode ter sido sua maneira de lidar com uma rea-
lidade esmagadoramente mais forte do que ele.
Meu vizinho, felizmente, sobreviveu. Nossa ingenuidade é que não: ficou ali,
estirada entre amendoeiras e paralelepípedos, sendo iluminada pela lâmpada intermitente
de mercúrio, depois que todas as crianças voltaram para suas casas.
Antonio Prata, autor desta crônica, também escreveu o livro O Inferno
Atrás da Pia (107 págs., Ed. Objetiva, tel. [21] 2199-7824, 27,90 reais).
PECHADA
O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chama-
do de "Gaúcho". Porque era gaúcho. Recém-chegado do Rio Grande do Sul, com um sotaque
carregado.
— Aí, Gaúcho!
— Fala, Gaúcho!
Perguntaram para a professora por que o Gaúcho falava diferente. A professora expli-
cou que cada região tinha seu sotaque, mas que as diferenças não eram tão grandes assim.
Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia, mas a língua era uma só. E os alunos não
achavam formidável que num país do tamanho do Brasil todos falassem a mesma língua, só com
pequenas variações?
— Mas o Gaúcho fala "tu"! — disse o gordo Jorge, que era quem mais implicava com o
novato.
— E fala certo — disse a professora. — Pode-se dizer "tu" e pode-se dizer "você". Os dois
estão certos. Os dois são português.
O gordo Jorge fez cara de quem não se entregara.
Um dia o Gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que acontecera.
— O pai atravessou a sinaleira e pechou.
— O que?
— O pai. Atravessou a sinaleira e pechou.
A professora sorriu. Depois achou que não era caso para sorrir. Afinal, o pai do meni-
no atravessara uma sinaleira e pechara. Podia estar, naquele momento, em algum hospital.
Gravemente pechado. Com pedaços de sinaleira sendo retirados do seu corpo.
— O que foi que ele disse, tia? — quis saber o gordo Jorge.
— Que o pai dele atravessou uma sinaleira e pechou.
— E o que é isso?
— Gaúcho... Quer dizer, Rodrigo: explique para a classe o que aconteceu.
— Nós vinha...
— Nós vínhamos.
— Nós vínhamos de auto, o pai não viu a sinaleira fechada, passou no vermelho e deu
uma pechada noutro auto.
A professora varreu a classe com seu sorriso. Estava claro o que acontecera? Ao mes-
mo tempo, procurava uma tradução para o relato do gaúcho. Não podia admitir que não o
entendera. Não com o gordo Jorge rindo daquele jeito.
"Sinaleira", obviamente, era sinal, semáforo. "Auto" era automóvel, carro. Mas "pechar" o
que era? Bater, claro. Mas de onde viera aquela estranha palavra? Só muitos dias depois a
professora descobriu que "pechar" vinha do espanhol e queria dizer bater com o peito, e até lá
teve que se esforçar para convencer o gordo Jorge de que era mesmo brasileiro o que falava o
novato. Que já ganhara outro apelido: Pechada.
— Aí, Pechada!
— Fala, Pechada!
Crônica de Luis Fernando Verissimo, ilustrada por Santiago
A VOLTA
Da janela do trem o homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Seus olhos se enchem de
lágrimas. Trinta anos. Desce na estação – a mesma do seu tempo, não mudou nada – e respira fundo. A-
té o cheiro é o mesmo! Cheiro de mato e poeira. Só não tem mais cheiro de carvão porque o trem agora
é elétrico. E o chefe da estação, será possível? Ainda é o mesmo. Fora a careca, os bigodes brancos, as
rugas e o corpo encurvado pela idade, não mudou nada.
O homem não precisa perguntar como se chega ao centro da cidade. Vai a pé, guiando-se por suas
lembranças. O centro continua como era. A praça. A igreja. A prefeitura. Até o vendedor de bilhe-
tes na frente do Clube Comercial parece o mesmo.
— Você não tinha um cachorro?
— O Cusca? Morreu, ih, faz vinte anos.
O homem sabe que subindo a Rua Quinze vai dar num cinema. O Elite. Sobe a Rua Quinze. O ci-
nema ainda existe. Mas mudou de nome. Agora é o Rex. Do lado tem uma confeitaria. Ah, os doces da
infância... Ele entra na confeitaria. Tudo igual. Fora o balcão de fórmica, tudo igual. Ou muito se engana ou
o dono ainda é o mesmo.
— Seu Adolfo, certo?
— Lupércio.
— Errei por pouco. Estou procurando a casa onde nasci. Sei que ficava ao lado de uma farmácia.
— Qual delas, a Progresso, a Tem Tudo ou a Moderna?
— Qual é a mais antiga?
— A Moderna.
— Então é essa.
— Fica na Rua Voluntários da Pátria.
Claro. A velha Voluntários. Sua casa está lá intacta. Ele sente vontade de chorar. A cor era outra. Ti-
nham mudado a porta e provavelmente emparedado uma das janelas. Mas não havia dúvida, era a casa
da sua infância. Bateu na porta. A mulher que abriu lhe parecia vagamente familiar. Seria...
— Titia?
— Puluca!
— Bem, meu nome é...
— Todos chamavam você de Puluca. Entre.
Ela lhe serviu licor. Perguntou por parentes que ele não conhecia. Ele perguntou por parentes de que
ela não se lembrava. Conversaram até escurecer. Então ele se levantou e disse que precisava ir embora.
Não podia, infelizmente, demorar-se em Riachinho. Só viera matar a saudade. A tia parecia intrigada.
— Riachinho, Puluca?
— É, por quê?
— Você vai para Riachinho?
Ele não entendeu.
— Eu estou em Riachinho.
— Não, não. Riachinho é a próxima parada
do trem. Você está em Coronel Assis.
— Então eu desci na estação errada!
Durante alguns minutos os dois ficaram se
olhando em silêncio. Finalmente a velha pergunta:
— Como é mesmo o seu nome?
Mas ele estava na rua, atordoado. E
agora? Não sabia como voltar para a
estação, naquela cidade estranha.
Luis Fernando Veríssimo. Comédias da vida privada:
101 crônicas escolhidas. Porto Alegre: L&PM, 2006.
Você também pode gostar
- Crónicas de Maria Judite de CarvalhoDocumento15 páginasCrónicas de Maria Judite de CarvalhoArmando Escobar100% (1)
- Exercícios PágDocumento7 páginasExercícios PágVictor ZebiniAinda não há avaliações
- As Peripécias de Beltrão Cabeça de Limão - 1) Beltrão e o Menino PretoDocumento11 páginasAs Peripécias de Beltrão Cabeça de Limão - 1) Beltrão e o Menino Pretoapi-3776852Ainda não há avaliações
- Histórias Dos Meninos de PijamaDocumento34 páginasHistórias Dos Meninos de PijamaFlávio GarciaAinda não há avaliações
- Bojunga, Lygia - Angélica PDFDocumento163 páginasBojunga, Lygia - Angélica PDFgeisyydias67% (3)
- DOri Vergalhao Simplicio e o Colchao MagicoDocumento118 páginasDOri Vergalhao Simplicio e o Colchao MagicoAndré Carlos SilvaAinda não há avaliações
- Prova Do 9º AnoDocumento3 páginasProva Do 9º AnoMoisaniel FurtadoAinda não há avaliações
- Esmeralda Ribeiro - GUARDE SEGREDO - Literatura Afro-BrasileiraDocumento4 páginasEsmeralda Ribeiro - GUARDE SEGREDO - Literatura Afro-BrasileiraDeniLSantosAinda não há avaliações
- Miolo 1 Etapa Aluno Edt 2 EdDocumento84 páginasMiolo 1 Etapa Aluno Edt 2 EdRossinalda Araujo67% (3)
- Pedro Bandeira Prova de FogoDocumento44 páginasPedro Bandeira Prova de FogoIgor Isídio50% (6)
- Pior Dia de TodosDocumento48 páginasPior Dia de Todos28henrico.trindadeAinda não há avaliações
- Uma Lição InesperadaDocumento3 páginasUma Lição Inesperadaraiodeluzbr100% (1)
- Nóis MudemoDocumento3 páginasNóis MudemoBruno BartelAinda não há avaliações
- Nois MudemosDocumento2 páginasNois MudemosDebora GomesAinda não há avaliações
- Rosa NegraDocumento290 páginasRosa NegraGabriellyAinda não há avaliações
- Aos 7 e Aos 40 - Joao Luis Anzanello Carrascoza PDFDocumento60 páginasAos 7 e Aos 40 - Joao Luis Anzanello Carrascoza PDFRafaela ScardinoAinda não há avaliações
- Tati Dias - Doce Professor (RL)Documento478 páginasTati Dias - Doce Professor (RL)karin-cristina21Ainda não há avaliações
- LP - Crônicas 3Documento6 páginasLP - Crônicas 3WesleyGalassiAinda não há avaliações
- Do Outro Lado Do Espelho - Série Doze Mundos - Livro 1Documento307 páginasDo Outro Lado Do Espelho - Série Doze Mundos - Livro 1taianecastro292Ainda não há avaliações
- Toda forma de amorNo EverandToda forma de amorCartola EditoraAinda não há avaliações
- Nóis MudemoDocumento4 páginasNóis MudemoAnderson MonteiroAinda não há avaliações
- 6 ANO - N13 - CrônicaDocumento21 páginas6 ANO - N13 - CrônicaLindinha SilvaAinda não há avaliações
- Ficha de EstudoDocumento4 páginasFicha de EstudoDébora BezerraAinda não há avaliações
- Eu, Que Não Amo Você (LuisDocumento145 páginasEu, Que Não Amo Você (LuisCarol RiffelAinda não há avaliações
- A Arvore de Natal de Cristo - Fiodor Dostoievski PDFDocumento7 páginasA Arvore de Natal de Cristo - Fiodor Dostoievski PDFrsorribasAinda não há avaliações
- Boletim Escolar LivroDocumento2 páginasBoletim Escolar LivroRobson MendesAinda não há avaliações
- Salins - Gomes GČDocumento256 páginasSalins - Gomes GČgserivaldo05Ainda não há avaliações
- Apostila 2 Linguagem Verbal e Não-VerbalDocumento6 páginasApostila 2 Linguagem Verbal e Não-VerbalreneihsAinda não há avaliações
- A Árvore de Natal Da Casa de CristoDocumento4 páginasA Árvore de Natal Da Casa de Cristojoaopedrolourenco194Ainda não há avaliações
- Lista de Textos Disponíveis No Site Praia Itamaraty PALOPDocumento43 páginasLista de Textos Disponíveis No Site Praia Itamaraty PALOPAmanda Caroline Rodovalho MarquesAinda não há avaliações
- Nois MudemoDocumento2 páginasNois MudemoMárcio SilvaAinda não há avaliações
- Valeria Luiselli A Historia Dos Meus DentesDocumento118 páginasValeria Luiselli A Historia Dos Meus DentesValnikson VianaAinda não há avaliações
- O UivoDocumento137 páginasO Uivodavidpais-ovarAinda não há avaliações
- Registros Que Fazem o Professor Refletir Sobre A PraticapdfDocumento9 páginasRegistros Que Fazem o Professor Refletir Sobre A PraticapdfjanainaoqAinda não há avaliações
- Pé de MeiaDocumento24 páginasPé de MeiaWesleyGalassiAinda não há avaliações
- Dinamicas para Reuniões PedagógicasDocumento95 páginasDinamicas para Reuniões PedagógicasMaria Luciana PatricioAinda não há avaliações
- As Metáforas de Como Aplicar o PlanejamentoDocumento3 páginasAs Metáforas de Como Aplicar o PlanejamentoWesleyGalassiAinda não há avaliações
- A VoltaDocumento1 páginaA VoltaWesleyGalassiAinda não há avaliações
- LP - Crônicas 3Documento6 páginasLP - Crônicas 3WesleyGalassiAinda não há avaliações
- Idéias de Dinâmicas para Grupos Da Terceira IdadeDocumento5 páginasIdéias de Dinâmicas para Grupos Da Terceira IdadeDarlan Castilhos ConstantinoAinda não há avaliações
- Alinhamento Das Habilidades Da BNCCDocumento5 páginasAlinhamento Das Habilidades Da BNCCWesleyGalassi100% (1)
- 1 Avaliação Formativa: CadernoDocumento12 páginas1 Avaliação Formativa: CadernoWesleyGalassiAinda não há avaliações
- Avaliação Língua PortuguesaDocumento21 páginasAvaliação Língua PortuguesaWesleyGalassi67% (3)
- Portugues IniciaisDocumento74 páginasPortugues IniciaisbetosociaisAinda não há avaliações
- (Resumo) Aula 1.conceito de Filologia RomânicaDocumento2 páginas(Resumo) Aula 1.conceito de Filologia RomânicaGabriela LimaAinda não há avaliações
- Uso Do Puso (')Documento3 páginasUso Do Puso (')claudinei silvaAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa - Vunesp - Língua Portuguesa - Questões de Reforço 018 - RegênciaDocumento11 páginasLíngua Portuguesa - Vunesp - Língua Portuguesa - Questões de Reforço 018 - RegênciaricardosedassariAinda não há avaliações
- Concordancia Regencia Colocacao Crase e Pontuacao 1Documento113 páginasConcordancia Regencia Colocacao Crase e Pontuacao 1EduardaAinda não há avaliações
- Angoche em 1930Documento2 páginasAngoche em 1930Rui AbílioAinda não há avaliações
- O Simple PastDocumento4 páginasO Simple PastLeonardoGamer16Ainda não há avaliações
- Variação Linguística AngolanaDocumento8 páginasVariação Linguística AngolanaRagnarAinda não há avaliações
- 9º Ano Atividades, Oração AdjetivaDocumento2 páginas9º Ano Atividades, Oração Adjetivamarcia martinsAinda não há avaliações
- Sob Ou Sobre?: Atividade ComplementarDocumento4 páginasSob Ou Sobre?: Atividade ComplementarGiovani Costa50% (2)
- Identidade CulturalDocumento28 páginasIdentidade CulturalReginelleAinda não há avaliações
- 05-14 SD Sintaxe TábitaDocumento11 páginas05-14 SD Sintaxe TábitaTábita AraújoAinda não há avaliações
- Praça Da República (Histórico)Documento4 páginasPraça Da República (Histórico)lunabibassAinda não há avaliações
- Plano de Curso: C OntinuumDocumento27 páginasPlano de Curso: C OntinuumSimone Caldeira FerreiraAinda não há avaliações
- Ogham Oraculo Ancestral e Escrita Dos Druidas - Compress PDFDocumento97 páginasOgham Oraculo Ancestral e Escrita Dos Druidas - Compress PDFeunicecasanovaAinda não há avaliações
- RezasDocumento10 páginasRezasAlexandre Nangueajô50% (2)
- Aula 3Documento51 páginasAula 3Fredy pvAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA Independencia 1º BimestreDocumento3 páginasAVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA Independencia 1º BimestreVirgínia Pereira MontesAinda não há avaliações
- Regência Verbal + CraseDocumento5 páginasRegência Verbal + CraseNandah OliveiraAinda não há avaliações
- Cronologia Da Cerâmica Grega2Documento45 páginasCronologia Da Cerâmica Grega2CarlosJesusAinda não há avaliações
- Mulheres e Carnavais Na Cidade Do Rio de Janeiro, Representações Do Corpo (1961-1980) - Ellen MazieroDocumento238 páginasMulheres e Carnavais Na Cidade Do Rio de Janeiro, Representações Do Corpo (1961-1980) - Ellen MazieroPamela Almeida GarciaAinda não há avaliações
- Atividades Fonte MaiorDocumento12 páginasAtividades Fonte MaiorSou eu CarolaAinda não há avaliações
- Atividade de Portugues Pronomes Pessoais Retos e Obliquos 9º Ano PDFDocumento2 páginasAtividade de Portugues Pronomes Pessoais Retos e Obliquos 9º Ano PDFEline Silva100% (1)
- Ebook - Culinária Afro Brasileira Sabores Ancestrais - Isabel Cristina Ribeiro RosaDocumento21 páginasEbook - Culinária Afro Brasileira Sabores Ancestrais - Isabel Cristina Ribeiro Rosacangas.culturadfAinda não há avaliações
- Unidade 1 EjerciciosDocumento13 páginasUnidade 1 EjerciciosJacqueline Flores MAinda não há avaliações
- Os 15 Bairros Mais Perigosos de Portugal VortexMagDocumento1 páginaOs 15 Bairros Mais Perigosos de Portugal VortexMagRafael ReisAinda não há avaliações
- Minha Bela Tentacao - Livro 4Documento1.229 páginasMinha Bela Tentacao - Livro 4israelborges.spamAinda não há avaliações
- Análise Combinatória PFC e PermutaçãoDocumento1 páginaAnálise Combinatória PFC e Permutaçãofilipe limaAinda não há avaliações
- Atividades de Revisão-8º AnoDocumento1 páginaAtividades de Revisão-8º AnoFábia FéoAinda não há avaliações
- Apostila ConjunçãoDocumento5 páginasApostila ConjunçãothyagocharmeAinda não há avaliações
- Atividade Extraclasse 'Carta - Produção Textual - 7º AnoDocumento2 páginasAtividade Extraclasse 'Carta - Produção Textual - 7º AnoSistema de Ensino Projetar100% (1)