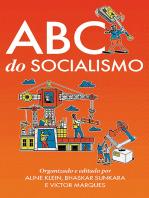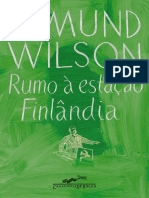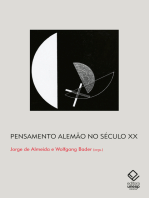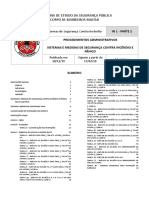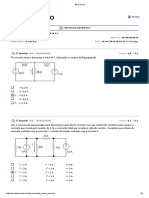Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Scruton Zizek
Enviado por
marcelo eder0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações23 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações23 páginasScruton Zizek
Enviado por
marcelo ederDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 23
Nas décadas de 1960 e 1970, o consenso, nas instituições
acadêmicas e intelectuais ocidentais, caia muito para a
esquerda. Escritores como Michel Foucault e Pierre
Bourdieu ganharam destaque ao atacarem a civilização que
eles rejeitavam como “bourgeois”. Os textos de teoria crítica
escritos por Jürgen Habermas dominavam o currículo das
ciências sociais, apesar de serem extremamente tediosos. A
reescrita da história nacional como um conto de “luta de
classes”, realizada por Eric Hobsbawm na Grã-Bretanha e
Howard Zinn nos Estados Unidos, quase se tornou uma
ortodoxia não só nos departamentos de História
universitários, mas também nas escolas de ensino médio.
Para nós, dissidentes, era um tempo desalentador, e
raramente eu acordava pela manhã sem me perguntar se
dar aula na Universidade de Londres era a carreira certa.
Então o comunismo entrou em colapso no Leste Europeu, e
me permiti ter esperança.
Durante um tempo, parecia estar por vir um pedido de
desculpas daqueles que haviam dedicado seus esforços
intelectuais e políticos a encobrir os crimes da União
Soviética ou enaltecer as “repúblicas do povo” da China e do
Vietnã. Mas esse momento durou pouco. Em uma década,
o establishment da esquerda retomou o controle, com Zinn
e Noam Chomsky renovando suas denúncias descontroladas
contra os Estados Unidos, a esquerda europeia se
reagrupando contra o “neoliberalismo” (o novo nome para o
livre mercado) como se este é que fosse o problema desde o
começo, Habermas e Ronald Dworkin colecionando
prestigiosos prêmios por suas defesas quase ininteligíveis
dos principais lugares-comuns da esquerda, e o veterano
marxista Hobsbawm sendo recompensado por uma vida
inteira de lealdade inabalável à União Soviética ao ser
condecorado “Companheiro de Honra” pela rainha.
Realmente, o inimigo não era mais descrito como antes: o
modelo marxista não cabia muito bem às novas condições, e
parecia um pouquinho insensato defender a causa da classe
operária quando seus últimos membros estavam se
juntando às fileiras dos não empregáveis ou dos autônomos.
Mas uma coisa permaneceu inalterada no despertar do
colapso comunista: a convicção de que era inaceitável ir
para a “direita”. Você pode ter dúvidas quanto a certas
doutrinas ou políticas de esquerda; você pode cogitar que
esse ou aquele pensador ou político esquerdista cometeu
“erros”. Mas isso era o mais longe que a autocrítica
conseguia chegar. Em contrapartida, simplesmente
contemplar um pensamento de direita equivalia a entrar no
território do diabo.
Assim, em poucos anos, a visão maniqueísta da política
moderna, como uma luta até a morte entre a boa esquerda e
a cruel direita, retomou seu domínio. Assegurando ao
mundo que não haviam sido enganados pela propaganda
comunista, os pensadores de esquerda renovaram seus
ataques à civilização ocidental e sua economia “neoliberal”
como sendo a principal ameaça à humanidade em um
mundo globalizado. O termo “de direita” ainda é um
xingamento hoje em dia, assim como era antes da queda do
muro de Berlim, e as atitudes da esquerda se adaptaram às
novas condições com pouca moderação de seu zelo
oposicionista.
Houve, no entanto, uma mudança importante. Um novo
tipo de pensador de esquerda surgiu – um que veste seu
zelo revolucionário com uma camada de ironia,
parcialmente rejeitando seu próprio idealismo impraticável
como se falasse através da máscara de um palhaço. Se você
resolveu estudar no departamento de humanas de alguma
universidade americana, logo vai se deparar com o nome de
Slavoj Žižek, o filósofo que cresceu no regime relativamente
moderado da Iugoslávia comunista, classificado como
“dissidente” durante o declínio do comunismo na sua
Eslovênia natal, mas que agora está fazendo onda como
crítico radical do Ocidente, ainda que sempre com certa
ironia.
É prova da leniência do regime iugoslavo o fato de Žižek ter
podido passar um tempo em Paris no início dos anos 1980.
Lá, ele encontrou o psicanalista Jacques-Alain Miller, que
estava promovendo um seminário do qual ele participou, e
que também se tornou seu analista. Miller é genro de
Jacques Lacan, o inescrupuloso maníaco pelo poder que
Raymond Tallis descreveu como “o analista do inferno”, e
este é um preço infeliz que se paga ao tentar entender Žižek:
você tem que entender Lacan, também.
Os Écrits de Lacan, publicados em 1966, foram uma das
fontes que embasaram os estudantes revolucionários em
maio de 1968. Trinta e quatro volumes dos seus seminários
se seguiram, publicados por seus discípulos e,
posteriormente, traduzidos para o inglês – ou ao menos
uma língua que se parecia com inglês tanto quanto o
original se parecia com francês. A influência desses
seminários é um dos mistérios profundos da vida intelectual
moderna. Sua regurgitação truncada de teorias que Lacan
não explorou nem entendeu é, por pura falta de vergonha
intelectual, sem precedente na literatura. Tecnicidades
inexplicadas, tiradas da teoria dos conjuntos, da física de
partículas, da linguística, da topologia, e seja o que mais
pudesse conferir poder ao feiticeiro que as invocou, são
usadas para provar teoremas espetaculares como o de que
um pênis ereto em condições burguesas é equivalente à raiz
quadrada de menos um, ou que você não (até ser
convencido por Lacan) “ex-siste”.
Outro conceito lacaniano – o do grande Outro – é crucial
para entender Žižek. Após as famosas palestras sobre Hegel
de Alexandre Kojève, realizadas no Institut des Hautes
Études antes da II Guerra Mundial e assistida por todo
mundo que era alguém no mundo literário parisiense
(inclusive Lacan), a ideia do Outro se tornou uma fixação do
pensamento filosófico francês. O grande e sutil argumento
da Fenomenologia do Espírito de Hegel, de que atingimos a
autoconsciência e a liberdade por meio do reconhecimento
do Outro, tem sido reciclado repetitivamente por aqueles
que assistiram às palestras de Kojève. Você o encontra em
Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas e Georges Bataille. E
você o encontra, de maneira horrivelmente truncada, em
Lacan.
Para Lacan, o grande Outro (A maiúsculo em Autre) é o
desafio apresentado ao self pelo não self. Esse grande Outro
assombra a percepção de mundo com o pensamento de um
poder dominador e controlador – um poder que buscamos e
do qual fugimos. Há também o pequeno outro (a minúsculo
em autre), que não é muito diferente do self, mas é o que se
vê no espelho durante o estágio de desenvolvimento que
Lacan chama de “fase do espelho”, quando a criança
supostamente vê seu reflexo e diz “Aha!”. Este é o ponto de
reconhecimento, quando a criança encontra pela primeira
vez o “objeto = a”, que, de alguma forma para mim
impossível de decifrar, indica tanto o desejo como a
ausência dele.
A fase do espelho dá à criança uma ideia ilusória (e breve)
do self, como um outro todo-poderoso no mundo dos
outros. Mas esse self logo é esmagado pelo grande Outro,
um personagem baseado no contexto de seio bom/seio mau,
amigo/inimigo criado pela psicanalista Melanie Klein. Ao
expor as trágicas consequências desse encontro, Lacan traz
surpreendentes insights, frequentemente repetidos sem
explicação por seus discípulos como se tivessem mudado o
curso da história intelectual. Um é particularmente
repetido: “não há relação sexual” – uma observação
interessante vindo de um sedutor em série, de quem
nenhuma mulher, nem mesmo as analisandas, escapava.
Além disso, é atribuída a Lacan a ideia de que o sujeito não
existe além da fase do espelho até que seja trazido à
existência por um ato de “subjetivização”. Você se torna um
sujeito autoconsciente ao tomar posse do seu mundo e
incorporar sua alteridade em seu self. Dessa maneira, você
começa a “ex-sistir” – existir para fora, em uma
comunidade de outros.
As ruminações de Lacan sobre o Outro aparecem
constantemente nos textos de Žižek, que provam um
aspecto em que o sistema comunista tinha vantagem sobre
seus rivais ocidentais: são produtos de uma mente
seriamente educada. Žižek escreve com perspicácia sobre
arte, literatura, cinema e música, e quando está tratando
dos eventos de sua época – sejam as eleições presidenciais
americanas ou o extremismo islâmico no Oriente Médio –,
sempre tem algo interessante e desafiador a dizer. Ele
aprendeu o marxismo não como uma busca exibicionista de
uma classe ociosa acadêmica, mas como uma tentativa de
descobrir a verdade sobre nosso mundo. Estudou Hegel
com profundidade, e no que certamente são seus dois textos
de mais fôlego – The Sublime Object of Ideology (1989) e a
Parte I de The Ticklish Subject (1999) –, Žižek mostra como
aplicar tal estudo aos tempos confusos em que vivemos. Ele
responde tanto à poesia quando à metafísica de Hegel, e
preserva o anseio hegeliano por uma perspectiva total, na
qual o ser e o nada, a afirmação e a negação, são
relacionados e reconciliados.
Se tivesse permanecido na Eslovênia, e se a Eslovênia
tivesse permanecido comunista, Žižek não seria o estorvo
que se tornou desde então. De fato, a introdução de Žižek no
mundo acadêmico ocidental é quase suficiente para
lamentar o colapso do comunismo no Leste Europeu. Ao
adotar a visão psicanalítica de Lacan como base
transcendental para sua nova filosofia socialista, Žižek eleva
a empolgação a um nível que nenhum daqueles monótonos
socialistas geralmente produzidos pela academia ocidental
conseguiu atingir. E seu estilo astuto e abrangente dá
indícios constantes de argumentação persuasiva. Às vezes,
pode ser lido com facilidade por muitas páginas seguidas,
com uma plena sensação de que está compartilhando
questões que podem produzir um entendimento entre ele e
seu leitor. Ao mesmo tempo, passa rapidamente por
afirmações absurdas que parecem, a princípio, lapsos de
escrita, mas que o leitor descobre, com o passar do tempo,
serem o verdadeiro conteúdo de sua mensagem.
Como exemplo do estilo de Žižek, eis aqui alguns dos
assuntos tratados em três páginas consecutivas, escolhidos
mais ou menos ao acaso, de seu envolvente livro de
2008, In Defense of Lost Causes: o Sudário de Turim; o
Corão e a visão de mundo científica; o Tao da física; o
humanismo secularista; a teoria lacaniana da função
paterna; a verdade na política; o capitalismo e a ciência; a
arte e a religião segundo Hegel; a pós-modernidade e o fim
das grandes narrativas; a psicanálise e a modernidade; o
solipsismo e o ciberespaço; a masturbação; Hegel e o
espírito objetivo; o pragmatismo de Richard Rorty; e há ou
não há um grande Outro?
O tiroteio de assuntos e conceitos torna fácil, para Žižek,
introduzir suas pequenas doses de veneno, que o leitor,
acompanhando o ritmo da prosa, pode acabar engolindo
facilmente sem perceber. Assim, não devemos “rejeitar o
terror in toto, mas reinventá-lo”; devemos reconhecer que o
problema de Hitler, e de Stálin também, é “não serem
violentos o suficiente”; devemos aceitar a “perspectiva
cósmica” de Mao e considerar a Revolução Cultural um
evento positivo. Em vez de criticar o stalinismo como
imoral, devemos louvá-lo por sua humanidade, já que
resgatou o experimento soviético da “biopolítica”; além
disso, o stalinismo não era imoral, mas muitomoral, pois
baseava-se na figura do grande Outro, que, como os
lacanianos sabem, é o erro primordial do moralista.
Também devemos reconhecer que a “ditadura do
proletariado” é “a única escolha verdadeira hoje”.
A defesa que Žižek faz do terror e da violência, seu apelo por
um novo Partido baseado nos princípios leninistas, sua
celebração da Revolução Cultural de Mao, apesar das
incontáveis mortes que foram, ainda, louvadas como parte
do significado da política de ação – tudo isso pode ter
servido para difamar Žižek entre os leitores esquerdistas
mais moderados, não fosse pelo fato de que nunca é possível
saber se ele está falando sério. Talvez ele esteja rindo – não
só de si mesmo e de seus leitores, mas
do establishmentacadêmico que o inclui, a sério, ao lado de
Kant e Hegel no currículo de filosofia, com um Journal of
Žižek Studies agora já em seu quarto ano de publicação.
Talvez ele esteja nos incentivando a dar férias para o
cérebro, zombando dos idiotas que acreditam haver algo
mais a se fazer com ele além de escapar dos pensamentos:
Aqui, no entanto, é preciso evitar a armadilha fatal de
pensar no sujeito como o ato, o gesto, que depois intervém
para preencher a lacuna ontológica, e insistir no ciclo
vicioso irredutível da subjetividade: “a ferida só é curada
pela lança que a causou”, isto é, o sujeito “é” a própria
lacuna preenchida pelo gesto da subjetivização (o que, para
Laclau, estabelece uma nova hegemonia; para Rancière, dá
voz ao “parte sem parte”; para Badiou, assume fidelidade ao
evento-verdade; etc.). Em suma, a resposta lacaniana para a
questão posta (e respondida de maneira negativa) por
filósofos tão diferentes como Althusser, Derrida e Badiou –
“Pode a lacuna, a abertura, o Vazio que precede o gesto de
subjetivização ainda ser chamado de ‘sujeito’?” – é um
enfático “Sim!” – o sujeito é, ao mesmo tempo, a lacuna
ontológica (a “noite do mundo”, a loucura do
autoisolamento radical) bem como o gesto de subjetivização
que, por meio de um curto circuito entre o Universal e o
Particular, cura a ferida de sua lacuna (em lacanês: o gesto
do Mestre que estabelece uma “nova
harmonia”).“Subjetividade” é um nome para essa
circularidade irredutível, para um poder que não combate
uma força resistente externa (diga-se, a inércia de dada
ordem substancial), mas um obstáculo que é
absolutamente inerente, que, em última instância, “é” o
próprio sujeito. Em outras palavras, o próprio esforço do
sujeito para preencher a lacuna retroativamente sustenta e
gera essa lacuna.
Perceba a súbita intromissão, na logorreia, de uma longa
frase em itálico, em nada mais clara que as outras, como se
Žižek houvesse parado para tirar uma conclusão antes de
passar, de maneira exultante, para o próximo conceito
malformado.
A passagem é parte de uma contribuição para a teoria
lacaniana da “subjetivização”. Mas seu significado principal
é deixar claro para o leitor que, seja o que for dito sobre
outros autores de absurdos em voga, Žižek também o disse,
e que todas as verdades, todas as contribuições, todos os
fragmentos úteis de bobagens esquerdistas, são afluentes
que correm na incontrolável onda de sua abrangente
negatividade. A prosa é um convite: mergulhe, leitor, para
lavar sua mancha de argumentação fundamentada, e
aproveite, enfim, as refrescantes águas da mente, que
correm de assunto em assunto, de lugar em lugar,
desimpedidas das realidades, sempre fluindo para a
esquerda.
Žižek publica cerca de dois ou três livros por ano. Ele
escreve com uma distância irônica de si mesmo, consciente
de que não é possível obter aceitação de outra forma. Mas
também se preocupa em criticar a plausibilidade superficial
da sociedade de consumo que substituiu a antiga ordem da
Iugoslávia comunista e descobrir a
causa espiritual profunda de seus males. Quando não
escreve alusivamente, pulando como um gafanhoto de
assunto em assunto, ele tenta desmascarar o que considera
serem os autoenganos da ordem capitalista global. Como
seu outro mestre, o filósofo francês de extrema-esquerda
Alain Badiou, Žižek não consegue oferecer uma alternativa
precisa. Sem esta, porém, uma alternativa imprecisa – até
mesmo puramente imaginária – servirá, sejam quais forem
as suas consequências. Nas palavras dele, com a linguagem
de Badiou: “É melhor um desastre de fidelidade ao Evento
do que uma não existência de indiferença ao Evento.” (O
Evento é a sempre esperada, e sempre adiada,
Revolução.)[Continua]
Resumir a posição de Žižek não é fácil: ele desliza entre
formas de argumentação filosóficas e psicanalíticas e é
fascinado pelos aforismos de Lacan. É um amante do
paradoxo e acredita fortemente no que Hegel chamou de
“trabalho do negativo”, embora siga Lacan ao levar a
negação ao extremo – não apenas como uma maneira de
estabelecer limites a um conceito, mas como uma maneira
de descartá-lo. Atingimos a autoconsciência através de um
ato de total negação: aprendendo que não há sujeito. Em
vez do sujeito, há um ato de subjetivização, que é a defesa
contra o sujeito – uma maneira de evitar que eu me torne
uma substância, uma identidade, um centro do ser. O
sujeito não existe antes da subjetivização. Porém, através da
subjetivização, eu retorno à condição que precedeu minha
autoconsciência. Eu sou o que me tornei, e me tornei o que
sou ao preencher o vazio do meu passado.
Para Žižek, como para Lacan, há o “pequeno outro”, que
aparece como objeto da fantasia, e também do desejo, e o
grande Outro, a principal imago, que domina a criança ao
crescer, a ordem que traz autoridade, a “consistente e
fechada totalidade” a que aspiramos, mas que sempre nos
escapa, já que “o grande Outro não existe”. O mesmo que
ocorre com o sujeito, ocorre com o objeto – ele não existe, e
a não existência é seu modo de existir. Este é o aspecto de
Lacan que Žižek considera mais empolgante – a varinha
mágica que invoca visões e logo as dispensa ao nada.
Žižek usa essa visão mística para pegar atalhos para muitas
de suas surpreendentes conclusões. É porque o stalinismo
se baseia na figura do grande Outro que é muito moral –
uma boa desculpa que ninguém está em posição de negar.
Democracia não é a solução porque, embora implique um
“grande Outro bloqueado”, como Jacques-Alain Miller
aparentemente demonstrou, não há outro grande Outro – o
“grande Outro processual” das leis eleitorais, que devem ser
obedecidas, independentemente do resultado.
Mas talvez o verdadeiro perigo seja o populismo, no qual o
grande Outro retorna disfarçado de Povo. Ou é certo
invocar o Povo, se você o faz no espírito de Robespierre,
cuja invocação de Virtude “redime o aparente conteúdo do
terror de sua realização”? Não há como saber, mas quem se
importa? Certamente não Žižek, que se refugia entre as
saias do grande Outro sempre que os pequenos outros
surgem com suas dúvidas irritantes. Dessa maneira, ele
pode se defender dos antitotalitários, cujos pensamentos
são “um exercício sofístico inútil, uma pseudoteorização dos
mais baixos e oportunistas temores e instintos de
sobrevivência” – linguagem que tem toda a autenticidade
daquelas denúncias em novilíngua que compuseram os
editoriais de Pravda, Rudé Právo, e da eslovena Delo nos
tempos de juventude de Žižek.
De Lacan, Žižek também tira a ideia de que os processos
mentais encaixam-se em três categorias distintas: fantasia,
símbolo e busca do Real. O desejo vem através da fantasia,
que propõe tanto o objeto = a (o objet petit a), e a primeira
subjetivização: a fase do espelho, na qual o desejo (e a falta
dele) entra na psique da criança. A noção de fantasia está
conectada com aquele termo-chave da análise lacaniana –
um termo que acabou entrando e dominando a teoria
literária francesa sob influencia de Roland Barthes –
a jouissance, a substituta de Lacan para o “princípio de
prazer” freudiano. As fantasias entram em nossas vidas e
persistem porque trazem prazer, e se revelam em sintomas,
aqueles fragmentos aparentemente irracionais do
comportamento por meio dos quais a psique protege seu
terreno obtido de prazer das realidades ameaçadoras do
mundo externo– do “invisitável” mundo do Real.
Esse pensamento gera uma emenda espetacular à ideia
freudiana de superego, expressa em termos que unem Kant
ao Marquês de Sade:
É lugar-comum da teoria lacaniana enfatizar como [o]
imperativo moral kantiano esconde uma injunção obscena
do superego: “Aproveite!” – a voz do Outro que nos leva a
seguir o dever pelo dever é uma irrupção traumática de um
apelo à impossíveljouissance, perturbando a homeostase do
princípio do prazer e seu prolongamento, o princípio da
realidade. É por isso que Lacan compreende Sade como a
verdade de Kant.
Tendo levado a máquina de absurdos tão longe assim,
identificando Kant e Sade, e consequentemente rejeitando,
como uma forma de obscenidade, a moralidade Iluminista
na qual a sociedade ocidental tem tentado por dois séculos
se ancorar, Žižek é capaz de oferecer uma nova teoria da
ideologia, que renova a crítica marxista do capitalismo.
Ideologia, na clássica análise marxista, é entendida em
termos funcionais, como o sistema de ilusões por meio do
qual o poder atinge legitimidade. O marxismo oferece um
diagnóstico científico da ideologia, reduzindo-a a um
sintoma, demonstrando como as coisas realmente são por
trás dos fetiches. Ao fazer isso, ela “abre nossos olhos” para
a verdade: vemos a exploração e a injustiça onde antes
víamos contrato e livre troca. A tela ilusória das
commodities, na qual relações entre pessoas aparecem
como uma movimentação regrada das coisas, desmorona
diante de nós e revela a realidade humana: dura, crua e
mutável. Em suma, ao rasgar o véu da ideologia,
preparamos o caminho para a revolução.
Mas, neste caso, Žižek sensatamente pergunta, por que a
revolução não chega? Por que o capitalismo, chegando a
essa autoconsciência, continua a afirmar seu crescente
domínio, sugando cada vez mais a vida humana para dentro
do redemoinho do comércio de commodities? A resposta de
Žižek é que a ideologia é renovada por meio da fantasia.
Agarramo-nos ao mundo do mercado como cena de
nossa jouissancemais profunda, e evitamos a realidade
externa, o Real que se recusa a ser conhecido. Passamos a
entender que a ideologia não está a serviço da economia
capitalista, mas a serviço de si mesma – é prazerosa por si
só, assim como a arte e a música.
A ideologia se torna um brinquedo em nossas mãos – nós
tanto a aceitamos como rimos dela, sabendo que tudo tem
seu preço em nosso mundo de ilusões, mas que nada de
valor aparecerá lá. É assim, ao menos, que eu entendo
observações como esta, que é tão clara quanto Žižek
consegue ser sobre este assunto:
Por que essa inversão da relação de fins e meios precisa
permanecer escondida, por que sua revelação é
contraproducente? Porque revelaria o prazer que se
encontra na ideologia, na própria renúncia ideológica. Em
outras palavras, revelaria que a ideologia serve apenas ao
seu próprio objetivo, que não serve a nada – que é
precisamente a definição lacaniana de jouissance.
É nesse ponto, contudo, que a clareza é imperativa. Estaria
Žižek nos dizendo que o mundo das commodities e dos
mercados veio para ficar e que devemos aprender a
aproveitá-lo da melhor maneira possível? O que significa ele
ter chegado a essa posição utilizando aquelas estranhas
categorias lacanianas que aparecem ao longo de sua prosa
no lugar de fundamentos, mas que são completamente
infundadas? Há um argumento real aqui, que seja
convincente para uma pessoa que não teve a sorte de passar
pela lavagem cerebral de Jacques-Alain Miller? Quase
sempre, em momentos cruciais, quando um argumento
claro é necessário, Žižek se refugia por trás de uma pergunta
retórica, a qual ele enche de encantos misteriosos da liturgia
lacaniana:
Não seria a topologia paradoxal do movimento de capital, o
bloqueio fundamental que se resolve e se reproduz através
de uma atividade frenética, um poder excessivo na forma
aparente de umaimpotência fundamental – essa passagem
imediata, essa coincidência de limite e excesso, de falta e
sobra – precisamente aquela do objet petit a de Lacan, do
resto que representa a falta fundamental e constitutiva?
A pressão sintática exercida por essas questões retóricas é
direcionada para a resposta: “Claro, eu já deveria saber
disso”. O objetivo é escapar à questão real, que é sobre o
significado e a fundamentação dos termos. Darei outro
exemplo espetacular, já que é relevante ao tema:
Não seria o domínio definitivo da psicanálise a conexão
entre a Lei simbólica e o desejo? Não seria a multiplicidade
de satisfações perversas a própria forma na qual ocorre a
conexão entre a Lei e o desejo? Não seria a divisão lacaniana
do sujeito a divisão que diz respeito precisamente à relação
do sujeito com a Lei simbólica? E ainda, não seria a
confirmação definitiva desse “Kant avec Sade” de Lacan,
que coloca o universo sadiano de perversão mórbida como
sendo a “verdade” da afirmação mais radical do peso moral
da Lei simbólica na história humana (a ética kantiana)?
Se você respondeu “não” a qualquer uma dessas questões, a
resposta seria “Não? Que raios você quer dizer com não?”
Pois a questão real é: “O que exatamente você quer dizer?”.
Mas isso me leva ao cerne do esquerdismo de Žižek. O Real,
tocado pela varinha mágica de Lacan, desaparece. É a
ausência inicial, a “verdade” que também é castração. A
varinha apaga a realidade e, assim, dá uma nova vida ao
sonho. É no mundo dos sonhos, portanto, que a moralidade
e a política agora estão implantadas. O que importa não é o
mundo desacreditado de eventos meramente empíricos,
mas os acontecimentos do mundo onírico, o mundo dos
intelectuais exaltados, para quem ideias e entusiasmos
cancelam meras realidades.
Assim, em um ensaio particularmente repugnante sobre o
“Terror Revolucionário”, Žižek exalta o “terror humanista”
de Robespierre e Saint-Just (em oposição ao terror “anti-
humanista, ou melhor, desumano” dos nazistas) não porque
fosse particularmente bondoso com suas vítimas, mas
porque expressava as “explosões utópicas da imaginação
política” de seus perpetradores. Não importa que o terror
levasse à prisão de centenas de milhares de pessoas
inocentes e à morte de tantas mais. As estatísticas são
irrelevantes, dispensadas pela varinha de Lacan, reduzidas à
raiz quadrada do menos um – um número puramente
imaginário. O que é relevante é a maneira como, por meio
de discursos que Žižek reconheceria como grandiloquência
autoexultante se suas faculdades críticas não o houvessem
abandonado diante de um herói revolucionário,
Robespierre “redimiu o aparente conteúdo de terror de sua
realização”.
Dessa forma, para Žižek, o pensamento cancela a realidade,
quando o pensamento está “à esquerda”. O que você faz
importa menos do que o que você pensa estar fazendo, dado
que o que você pensa estar fazendo tem o objetivo principal
de emancipação – de égaliberté, como colocou o teórico
marxista Étienne Balibar. O objetivo não é igualdade ou
liberdade no sentido qualificado em que você ou eu
entendemos esses termos. É a igualdade absoluta (com um
pouquinho de liberdade, se você tiver sorte), que, por sua
natureza, só poderá ser atingida por meio de um ato de total
destruição. Buscar esse objetivo também pode significar
reconhecer sua impossibilidade – não é a isso que
equivalem esses projetos “totais”? Não importa. É
precisamente a impossibilidade da utopia que nos prende a
ela: nada pode macular a pureza absoluta do que jamais
será testado.
Não devemos nos surpreender, portanto, quando Žižek
escreve que “a pequena diferença entre o Gulag stalinista e o
campo de extermínio nazista também era, naquele
momento, a diferença entre civilização e barbárie”. Seu
único interesse está no estado de espírito dos
perpetradores: Eram eles movidos, mesmo que de maneira
indireta, por entusiasmos utópicos, ou eram, pelo contrário,
movidos por algum apego desacreditado? Se você se afasta
das palavras de Žižek e se pergunta onde a linha entre
civilização e barbárie se encontra, no momento em que
conjuntos rivais de campos de extermínio estavam
competindo na contagem de corpos, você certamente
colocará a Rússia comunista e a Alemanha nazista de um
lado da linha, e alguns outros lugares – Grã-Bretanha e
Estados Unidos, por exemplo – do outro. Para Žižek, isso
seria um absurdo, uma traição, uma recusa patética de
reconhecer o que realmente está em jogo. O que importa é o
que as pessoas dizem, não o que fazem, e o que dizem é
redimido por suas teorias, por mais idiota e imprudente que
seja sua busca, e independentemente do quanto desprezar
as pessoas reais. Resgatamos o virtual do real por meio de
nossas palavras, e os atos não têm nada a ver com isso.
Ao ler Žižek, lembro-me de uma visita que fiz, certa vez, ao
cemitério de Devichye Pole, em Moscou, nos tempos de
Gorbachev. Meu guia, um intelectual dissidente semelhante
a Žižek em aparência e comportamento, me levou ao túmulo
de Khrushchev, onde havia um monumento criado por
Ernst Neizvestny. O escultor se destacara devido a uma
denúncia particular de Khrushchev, quando, após uma
visita a uma exposição de arte moderna, o líder soviético
decidiu atacar toda a comunidade artística. Meu guia
considerava essa birra de Khrushchev como muito mais
séria do que sua destruição de 25 mil igrejas e não via nada
de errado em seu enterro ali, no que outrora era solo
consagrado.
O monumento mostra a cabeça de Krushchev, sobre dois
troncos de pedra, um preto e outro branco, simbolizando as
contradições no caráter do líder. Afinal, meu guia insistiu,
foi ele quem denunciou Stálin e, assim, mostrou-se amigo
dos intelectuais, bem como foi ele quem denunciou o
modernismo artístico e, então, declarou-se inimigo dos
intelectuais. Ficou dolorosamente claro para mim que o
povo russo nada contou na história intelectual do
comunismo russo, seja na mente de seus defensores ou de
seus críticos, com quem todo o período moderno tem
estabelecido uma espécie de diálogo – conduzido em alto
tom e com todas as armas disponíveis – entre o Partido e a
intelligentsia. Milhões de servos foram silenciosamente
para o túmulo apenas para ilustrar uma conclusão
intelectual e dar aos argumentos de poder a prova decisiva
do sofrimento desamparado de um outro.
Essa redução da realidade nos faz lembrar um fato crucial:
que o objetivo de uma emancipação suprema, que também
será o reino da igualdade total, é uma questão de fé, não de
previsão. Expressa uma necessidade religiosa que não pode
ser descartada e que não sobreviverá a toda prova
apresentada para sua refutação. Por um tempo, no
despertar de 1989, parecia que a agenda comunista havia
sido derrotada e que as evidências levavam à rejeição das
ideias que haviam escravizado pessoas do Leste Europeu
desde a guerra. Mas a máquina de absurdos foi preparada
para obliterar os disparos de argumentos fundamentados,
para cobrir tudo em uma névoa de incerteza e reviver a ideia
de que a revolução real ainda está por vir, e que será uma
revolução de pensamento, uma liberação interna, da qual os
argumentos fundamentados (mera “ideologia burguesa”)
não podem se defender. O reino do absurdo enterrou a
questão da revolução tão abaixo da possibilidade de
questionamento racional que ela não podia mais ser
diretamente mencionada.
Ao mesmo tempo, os alquimistas nunca deixaram de
propor a revolução como objetivo, como aquilo que devem
invocar das trevas criadas por seus feitiços. O que
exatamente eles estavam esperando? Voltemos ao mundo
da análise racional para entender que há pelo menos dois
tipos de revolução e que é importante, quando fazemos
dessa palavra um ídolo, nos perguntarmos a qual das duas
nos referimos. Há o tipo exemplificado pela Revolução
Gloriosa de 1688 na Inglaterra e pela Guerra de
Independência dos Estados Unidos de 1783, nas quais
cumpridores da lei tentaram definir e proteger seus direitos
de serem usurpados. E há o tipo exemplificado pela
Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Russa de 1917,
nas quais uma elite toma o poder de outra e, então, se
estabelece por meio de um reino de terror.
A diferença entre esses dois tipos de revolução é enorme e
tem um vasto significado para nós, se observarmos o curso
da história moderna. Mas Žižek e outros esquerdistas pós-
mordernos rejeitam tal distinção com desdém. Para eles, as
revoluções inglesa e americana não emergiram de um brilho
na imaginação dos intelectuais exultantes, apenas os forçou
a experimentar as necessidades das pessoas reais. Em vez
de examinar o que essas revoluções atingiram, se foram ou
não suficientes, e se foram, de qualquer forma, o melhor
que se poderia esperar, pensadores como Žižek preferem se
enterrar em disputas acadêmicas com companheiros de
esquerda, trocando frases de uma formidável novilíngua em
torno do santuário onde o ídolo foi escondido.
Aqueles que pensavam, em 1989, que nunca mais um
intelectual seria pego defendendo o partido leninista ou os
métodos de Stálin, não contavam com o poder esmagador
do absurdo. Na necessidade urgente de acreditar, de achar
um mistério central que seja o verdadeiro significado das
coisas e para o qual a vida de uma pessoa possa ser
dedicada, o absurdo é muito preferível ao bom senso. Ele
constrói um estilo de vida em torno de algo que não pode
ser questionado. Nenhum ataque fundamentado é possível
contra o que nega a possibilidade do ataque fundamentado.
Assim, aquela utopia é introduzida no lugar que a teologia
deixou vago, para erguer seu própriomysterium tremendum
et fascinans no centro da vida intelectual. Uma nova
geração redescobriu a voz autêntica do proletariado, que
fala na língua da máquina de absurdos. E apesar de todas as
decepções, estavam convencidos de que a “ditadura do
proletariado” permanecia sendo uma opção – na verdade, a
única opção. A prova disso está na prosa de Žižek; você tem
a palavra dele.
Em Žižek, encontramos provas surpreendentes do fato de
que a “hipótese comunista”, como Badiou a chama, nunca
desaparecerá. Apesar da tentativa de Marx de apresentá-la
como conclusão de uma ciência, a “hipótese” não pode ser
testada nem refutada, pois ela não é uma previsão nem, em
qualquer caso real, uma hipótese. É uma afirmação de fé no
desconhecido. Žižek concede seu peso, sem hesitar, a toda
causa que for contra, de qualquer forma, à ordem
estabelecida das democracias ocidentais. Ele inclusive se
define contrário à democracia parlamentar e não tem
escrúpulos ao defender o terror (adequadamente estetizado)
como parte de seu glamoroso desapego. Mas suas poucas
invocações vazias da alternativa igualitária não vão muito
além dos clichês da Revolução Francesa e logo são envoltas
pelos feitiços lacanianos como forma de se proteger dos
questionamentos. Quando se trata da política real, ele
escreve como se a negação fosse suficiente. Seja a intifada
palestina, o IRA, os chavistas venezuelanos, os sans-
papiers franceses ou o movimento Occupy – tanto faz a
causa radical, o que importa é o ataque ao “Sistema”.
Assim como em 1789, como em 1917, como na Grande
Marcha de Mao, no Grande Salto para Frente e na
Revolução Cultural, o trabalho de destruição se auto-
alimenta. A lengalenga de Žižek serve a um propósito:
desviar a atenção do mundo real, das pessoas reais e do
raciocínio moral e político comum. Ela existe para
promover uma causa única e absoluta, a causa que não
admite críticas nem compromissos e que oferece redenção
àqueles que a abraçam. E que causa é essa? A resposta está
em todas as páginas escritas por Žižek: Nada.
Você também pode gostar
- O Príncipe Palhaço da Revolução (Parte 1Documento4 páginasO Príncipe Palhaço da Revolução (Parte 1HoneyLopesAinda não há avaliações
- Lukács e A Sombra de StálinDocumento7 páginasLukács e A Sombra de StálinMauroCostaAssisAinda não há avaliações
- Confissões de um cético francófiloDocumento21 páginasConfissões de um cético francófiloAline MarquesAinda não há avaliações
- Análise da teoria do romance de Lukács e sua evoluçãoDocumento30 páginasAnálise da teoria do romance de Lukács e sua evoluçãoRodrigo Machado CavalcanteAinda não há avaliações
- (Artigo) Sociedade e Forma em Lukács e Antonio CandidoDocumento10 páginas(Artigo) Sociedade e Forma em Lukács e Antonio CandidorodrigomichellAinda não há avaliações
- ExpressionismoDocumento46 páginasExpressionismoVictorAinda não há avaliações
- Olhando de viés para Lacan através da cultura popularDocumento21 páginasOlhando de viés para Lacan através da cultura popularTanisa PrietoAinda não há avaliações
- Entre A Razão e A Fé - Marxismo e HumanismoDocumento8 páginasEntre A Razão e A Fé - Marxismo e Humanismos.renan1302Ainda não há avaliações
- Congresso ABRALIC analisa forma literária Lukács, Candido e SchwarzDocumento10 páginasCongresso ABRALIC analisa forma literária Lukács, Candido e SchwarzAlejandro LimaAinda não há avaliações
- Roger Scruton - Confissões de Um Cético FrancófiloDocumento21 páginasRoger Scruton - Confissões de Um Cético FrancófiloMatheus RegisAinda não há avaliações
- Lukács e a crítica ao stalinismoDocumento40 páginasLukács e a crítica ao stalinismoLuiz Feliipe Martins CandidoAinda não há avaliações
- O fim da ideologia de Daniel Bell e a exaustão das ideologiasDocumento4 páginasO fim da ideologia de Daniel Bell e a exaustão das ideologiaschenrique-siqueiraAinda não há avaliações
- Lukács e o irracionalismoDocumento21 páginasLukács e o irracionalismoCarolina PetersAinda não há avaliações
- O romantismo revolucionário de Ernst BlochDocumento18 páginasO romantismo revolucionário de Ernst BlochprimoleviAinda não há avaliações
- Autores clássicos do pensamento socialDocumento11 páginasAutores clássicos do pensamento socialmari.santis1990Ainda não há avaliações
- 1-link-0 (1)Documento17 páginas1-link-0 (1)al2307697Ainda não há avaliações
- Jacques Colette - ExistencialismoDocumento80 páginasJacques Colette - ExistencialismoDialetico ExistencialAinda não há avaliações
- A Escola de FrankfurtDocumento13 páginasA Escola de FrankfurtJair Osvaldo Sancha SilvaAinda não há avaliações
- Principais Correntes Do Marxismo Vol 1 Leszek KołakowskiDocumento298 páginasPrincipais Correntes Do Marxismo Vol 1 Leszek KołakowskiBeyondAinda não há avaliações
- Anotações François DosseDocumento17 páginasAnotações François DosseMatheus AmorimAinda não há avaliações
- As Estruturas para Entender o Pos-GuerraDocumento1 páginaAs Estruturas para Entender o Pos-GuerrajuliamesquitaAinda não há avaliações
- FEHÉR, F. O Romance Está MorrendoDocumento12 páginasFEHÉR, F. O Romance Está MorrendoNicole Dias0% (1)
- Essa Luz - Revista de HistóriaDocumento2 páginasEssa Luz - Revista de HistóriaanammcAinda não há avaliações
- Os Africanos Que Propuseram Ideias Iluministas Antes de Locke e KantDocumento11 páginasOs Africanos Que Propuseram Ideias Iluministas Antes de Locke e KantBehaim JúnniorAinda não há avaliações
- 70890-Texto do artigo-261230-1-10-20210430Documento13 páginas70890-Texto do artigo-261230-1-10-20210430Vitor GarnicaAinda não há avaliações
- A perversão e vício de Michel Foucault segundo biografiaDocumento14 páginasA perversão e vício de Michel Foucault segundo biografiaCadastrodebostaAinda não há avaliações
- Existencialismo - Jacques Colette PDFDocumento73 páginasExistencialismo - Jacques Colette PDFLucas DejardAinda não há avaliações
- A filosofia da práxis no pensamento de Rosa LuxemburgoDocumento11 páginasA filosofia da práxis no pensamento de Rosa LuxemburgoRodrigo SantaellaAinda não há avaliações
- Realismo Critico HojeDocumento102 páginasRealismo Critico Hojeegruiz2238Ainda não há avaliações
- Plekhanov G. v. - Os Princípios Fundamentais Do MarxismoDocumento92 páginasPlekhanov G. v. - Os Princípios Fundamentais Do MarxismoAnderson FelixAinda não há avaliações
- Marx e Os MarxismosDocumento15 páginasMarx e Os MarxismosJosias MacedoAinda não há avaliações
- Terry EagletonDocumento20 páginasTerry EagletonaguinamarAinda não há avaliações
- Colen, J.a., Vecchio, Cap Karl Popper in A. Porque Pensamos Como Pensamos. Uma História Das Ideias Sociais e Políticas, Porto, Aster, 2022Documento15 páginasColen, J.a., Vecchio, Cap Karl Popper in A. Porque Pensamos Como Pensamos. Uma História Das Ideias Sociais e Políticas, Porto, Aster, 2022Thays BatistaAinda não há avaliações
- ZIZEK, Slavoj (Org) - Um Mapa Da Ideologia PDFDocumento81 páginasZIZEK, Slavoj (Org) - Um Mapa Da Ideologia PDFAluana Guilarducci86% (7)
- György Lukács Existencialismo Ou MarxismoDocumento113 páginasGyörgy Lukács Existencialismo Ou MarxismoDaniel Mourão100% (1)
- Materialismo MilitanteDocumento21 páginasMaterialismo MilitantePedroAinda não há avaliações
- A releitura de Lenin após a catástrofe de 1914Documento6 páginasA releitura de Lenin após a catástrofe de 1914Tatiana VianAinda não há avaliações
- Netto, LUKÁCS Y LA SOCIOLOGÍA PDFDocumento9 páginasNetto, LUKÁCS Y LA SOCIOLOGÍA PDFVenancio Andreu BaldóAinda não há avaliações
- Biografia Comentada de Slavoj ŽižekDocumento7 páginasBiografia Comentada de Slavoj ŽižekliviaasrangelAinda não há avaliações
- A Revolução é o Freio de Emergência: Ensaios Sobre Walter BenjaminNo EverandA Revolução é o Freio de Emergência: Ensaios Sobre Walter BenjaminAinda não há avaliações
- Fascismo, Colonialismo e Revolução: Uma Leitura de Eduardo LourençoDocumento27 páginasFascismo, Colonialismo e Revolução: Uma Leitura de Eduardo LourençoJoão José SeveneAinda não há avaliações
- Filosofia ModernaDocumento18 páginasFilosofia Modernaluis carlos chavarria rodriguezAinda não há avaliações
- Aula Sobre Polêmica Do RealismoDocumento7 páginasAula Sobre Polêmica Do RealismoBreno GóesAinda não há avaliações
- Existencialismo - Jacques ColetteDocumento73 páginasExistencialismo - Jacques ColetteKatarine LarocheAinda não há avaliações
- A importância dos manuscritos de Kreuznach na gênese da ontologia marxianaDocumento12 páginasA importância dos manuscritos de Kreuznach na gênese da ontologia marxianaFredcostaAinda não há avaliações
- Historia Essencial Da Filosofia VL 3 Paulo Ghiraldelli JuniorDocumento119 páginasHistoria Essencial Da Filosofia VL 3 Paulo Ghiraldelli JuniorEDINILSON SALATESKIAinda não há avaliações
- Badiou e Roudinesco Jacques Lacan Passado PresenteDocumento96 páginasBadiou e Roudinesco Jacques Lacan Passado Presentetioba48277100% (2)
- A MODERNIDADE E A TEORIA DO ROMANCE DE LUKÁCSDocumento11 páginasA MODERNIDADE E A TEORIA DO ROMANCE DE LUKÁCSSwellen PereiraAinda não há avaliações
- O Que Eu Odeio em FoucaultDocumento3 páginasO Que Eu Odeio em FoucaultRafaelAinda não há avaliações
- Immanuel KantDocumento4 páginasImmanuel KantAnderson PalhanoAinda não há avaliações
- A Monstruosidade de CristoDocumento426 páginasA Monstruosidade de Cristointerfaces filosóficasAinda não há avaliações
- O Fascismo ItalianoDocumento40 páginasO Fascismo ItalianoDanielleAinda não há avaliações
- Rumo A Estacao Finlandia - Edmund Wilson PDFDocumento397 páginasRumo A Estacao Finlandia - Edmund Wilson PDFfabriciomoledo100% (2)
- Pensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilNo EverandPensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilAinda não há avaliações
- Encontrar o homem no homem: Dostoiévski e o existencialismoNo EverandEncontrar o homem no homem: Dostoiévski e o existencialismoAinda não há avaliações
- Crepúsculo dos ídolos: Ou como se filosofa com o marteloNo EverandCrepúsculo dos ídolos: Ou como se filosofa com o marteloNota: 4 de 5 estrelas4/5 (185)
- A Mulher No Terceiro Milênio - Rose MuranoDocumento205 páginasA Mulher No Terceiro Milênio - Rose MuranoEdilson SouzaAinda não há avaliações
- AfmszezecinskiDocumento159 páginasAfmszezecinskiKarian LeaoAinda não há avaliações
- Peb III MatematicaDocumento24 páginasPeb III MatematicaMatheus De Oliveira CamposAinda não há avaliações
- ENEM Simulado de Matemática BásicaDocumento14 páginasENEM Simulado de Matemática BásicaLorena Marcelino100% (1)
- Cadeno de Geografia 8ºanoDocumento14 páginasCadeno de Geografia 8ºanoMarlene RicardoAinda não há avaliações
- As colunas na Maçonaria: significado simbólicoDocumento7 páginasAs colunas na Maçonaria: significado simbólicoFranciano Vieira Pires100% (1)
- 30 Dias de Noite - História Pronta Storytelling PDFDocumento16 páginas30 Dias de Noite - História Pronta Storytelling PDFOscar Moura100% (1)
- Herdeiro Rebelde - Vi KeelandDocumento247 páginasHerdeiro Rebelde - Vi KeelandEdna TorresAinda não há avaliações
- Vazão e problemas de torneirasDocumento5 páginasVazão e problemas de torneirasNapoleão FreireAinda não há avaliações
- Gazeta de AustinDocumento8 páginasGazeta de AustinAndre de SouzaAinda não há avaliações
- Aula4 2Documento37 páginasAula4 2Lucas AssisAinda não há avaliações
- Minicurso SBSI 2017 - Slides - SdSI e ECOS - Conceitos e AplicaçõesDocumento59 páginasMinicurso SBSI 2017 - Slides - SdSI e ECOS - Conceitos e AplicaçõesNeto GracianoAinda não há avaliações
- As 10 Novas Habilidades para o Trabalho PDFDocumento5 páginasAs 10 Novas Habilidades para o Trabalho PDFFabrício ZandonáAinda não há avaliações
- In - 001 - Procedimentos Administrativo-Parte 2 - (18.12.2019) PDFDocumento63 páginasIn - 001 - Procedimentos Administrativo-Parte 2 - (18.12.2019) PDFLuiz Henrique C. LumertzAinda não há avaliações
- Gestão da Produção - Introdução e Evolução HistóricaDocumento5 páginasGestão da Produção - Introdução e Evolução Históricaanonimovw0% (1)
- Procedimentos Administrativos Na ExportaçãoDocumento42 páginasProcedimentos Administrativos Na ExportaçãoJonas Corassa100% (1)
- Transtorno de LinguagemDocumento8 páginasTranstorno de LinguagemmetalliraphaAinda não há avaliações
- Avaliar a caminhada da catequeseDocumento13 páginasAvaliar a caminhada da catequeseJoão MeloAinda não há avaliações
- Ativ. Adaptadas Ciências - 3º AnoDocumento88 páginasAtiv. Adaptadas Ciências - 3º AnoAninha Ribeiro100% (3)
- NBR 1002 - Mascaras de Protecao Respiratoria de Uso Nao ProfissionalDocumento42 páginasNBR 1002 - Mascaras de Protecao Respiratoria de Uso Nao ProfissionalKildere AlmeidaAinda não há avaliações
- Seminário de Dissertações e Teses em AndamentoDocumento91 páginasSeminário de Dissertações e Teses em AndamentoRaquel CardosoAinda não há avaliações
- Livro Secagem de MadeirasDocumento26 páginasLivro Secagem de MadeirasGreyce MaasAinda não há avaliações
- De JudIIJEF 2020 09 15 ADocumento401 páginasDe JudIIJEF 2020 09 15 AShayene RibeiroAinda não há avaliações
- Garrafa Térmica Arabic Classhome 1 Litro - BrancoDocumento3 páginasGarrafa Térmica Arabic Classhome 1 Litro - Brancodaysa joanita dos santos souzaAinda não há avaliações
- Caracterização funcional da vegetação da Barra da TijucaDocumento56 páginasCaracterização funcional da vegetação da Barra da TijucaJoão MouraAinda não há avaliações
- Circuito Elétrico Simulado 2Documento3 páginasCircuito Elétrico Simulado 2mlcsdrAinda não há avaliações
- O Alicerce de Seu CasamentoDocumento4 páginasO Alicerce de Seu CasamentoRafael PaixãoAinda não há avaliações
- Plano de Aula Geo7 07und02Documento15 páginasPlano de Aula Geo7 07und02Cristian Chaves RodriguesAinda não há avaliações
- IbamaDocumento17 páginasIbamaanon_700777709Ainda não há avaliações
- Document - Onl - o Maior Segredo de Todos Os Tempos para Criar Dinheiro Joe VitaleDocumento51 páginasDocument - Onl - o Maior Segredo de Todos Os Tempos para Criar Dinheiro Joe VitaleAzevedoAinda não há avaliações