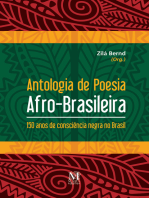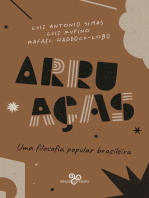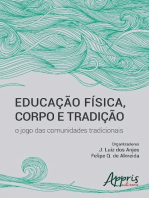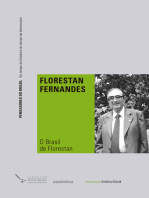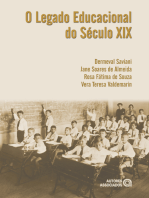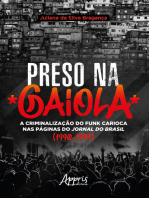Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ENXADA E A CANETA - Sobre o Livro de José Moreira - Rosa Dos Ventos
Enviado por
Beatriz Magalhaes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações8 páginasTítulo original
ENXADA E a CANETA - Sobre o Livro de José Moreira - Rosa Dos Ventos
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações8 páginasENXADA E A CANETA - Sobre o Livro de José Moreira - Rosa Dos Ventos
Enviado por
Beatriz MagalhaesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
1
A Enxada e a Caneta
quando três irmãos lavradores escrevem
Prefácio ao livro Sonhos de poeta, de José Moreira Coelho
Chegados aqui em caravelas e armados mais de pólvora do
que de cruzes, os conquistadores desta parte das Américas chamada
mais tarde de Brasil não deixaram de perceber logo no primeiro dia
e na primeira praia, que não sendo aquelas as terras ambicionadas
das Índias, elas estavam no entanto povoadas. E eles viram
estranhos seres inteiramente sem roupas. Mas seres que os
receberam com espanto, mas também com uma pacífica e quase
ingênua hospitalidade E aos “do lugar” os que chegaram deram o
nome de “índios”.
Primeiro eles e os outros, “selvagens”, “negros escravos”,
“brancos pobres”, “sem poder, sem saber e sem cultura”, foram seres
condenados ao silêncio e à escuta servil de palavras que não
compreendiam. E se mais adiante algum missionário traduzia as
suas línguas nativas, era não para aprender deles, mas para saber
como ensiná-los, catequizá-los, civilizá-los. Assim foi.
Quantos séculos foram precisos para que eu mesmo, durante
a cerimônia de abertura de um novo curso destinado a indígenas do
Brasil, na Universidade de Brasília (onde comecei minha vida de
professor há cinquenta anos, quando chegar agosto de 1967),
compartisse uma mesa redonda com... índios. Com Ailton Krenac e
David Kapenawa?
Quanto tempo precisou passar para que, em um gesto
simples, quase não visto pelas outras pessoas, Davi me mostrasse a
primeira edição de um livro que ele escreveu sobre o mundo dos
Ianomâmi? O mesmo povo amazônico que alguns anos antes um
antropólogo europeu apresentava como os “últimos selvagens” ainda
em “estado puro”. Talvez os últimos perdidos coletores, guerreiros e,
quem sabe? Até Antropólogos.
E, quando não apenas as pessoas e os povos indígenas, mas os
povos e pessoas roubadas da África e trazidas como escravos - cujas
almas até poderiam gozar o paraíso eterno, desde que aqui na Terra
os seus corpos escuros fossem o de seres silenciosos, servis e
2
trabalhadores - e também os camponeses pobres que, bem mais do
que os bandeirantes, foram o verdadeiros povoadores do fundos a
Oeste deste País, começaram a falar, e aprenderam a duras penas a
sair do silêncio a que os condenavam os donos do poder e da
palavra, quem os quis ouvir?
Quem dentre os “outros” haveria de querer escutar o que
tinham a dizer? “brutos”, “boçais”, “caipiras”, “capiaus” afeitos à
foice e à enxada, analfabetos ou usuários de dois ou três anos de
“escola”, quem a não ser eles próprios deixaria de lado alguma
ferramenta rústica de seus ofícios, para ouvir as suas falas, entre
canções de mágoas ou de festas, cantos votivos aos seus santos e
deuses, ou então os seus poemas, seus preceitos de vida postos em
palavras e as suas preces?
E mesmo quando o romantismo descobre a nobreza de
“nossos índios”, como em José de Alencar, foi preciso que os “bons
selvagens” fossem a falsa imagem do herói branco, para que os
brancos letrados de seu tempo se abrissem a ouvi-los. E não ouviam
a voz do índio, mas a fala de um branco dizendo por ele e em seu
nome o que, então, traduzido do selvagem para o civilizado e do
popular para o erudito, pudesse virar a ópera (como “O Guarani”), o
poema (como Ijuca-Pirama) ou o romance (como Iracema).
Ao outros, os todos dos povos desta nação, o silêncio, a
catequese imposta, a conversão forçada, e uma vida condenada ao
silêncio, à escuta, à imitação dos “letrados”. Ou fragmentos e
“resquícios” de uma “alma do povo”, bem mais do que o rosto
verdadeiro de pessoas reais, e os seus modos de vida, os seus
sofrimentos, as suas lutas e esperanças.
Quando o que criavam os “do povo” e partilhavam entre eles o
que diziam, oravam, cantavam e bailavam, chegou a fazer-se ouvir
entre os letrados, o que se de longe se buscou ouvir e “preservar” foi
apenas em um primeiro momento o resquício do “primitivo”, do
“rústico” ou ,n o limite, algo que fosse o eco de “nossas raízes
africanas”. Falas e outros momentos de culturas que justamente por
serem entre o selvagem e o camponês, mereciam ser de algum modo
preservadas.
3
Durante séculos, primeiro os outros e, depois, nós mesmos,
os reduzimos ao silêncio, ao estranhamento, ao modelo de nossas
“tradições do passado”. E sob o desejo de enfim nos abrirmos a
atentar para o que para além do “pitoresco e do folclórico” eles
tinham a trocar entre eles e a nos dizer, descobrimos pouco a pouco
aquilo que, até então silenciado, em suas múltiplas diferenças
culturais, ousa revelar a eles e a nós a perversa e persistente
desigualdade social que, entre a Colônia e os dias de agora, jamais
conseguimos ultrapassar.
Eis que aquelas vozes dos diferentes “povos” do povo deste
País aprenderam por conta própria a dizer a sua palavra. Por conta
própria, entre eles e, depois, e também em diálogo com as raras
pessoas e aletradas e as agremiações de vocação popular que foram e
seguem indo até eles para os ouvir; para aprender com eles e, a
partir de então, para compartir com eles o que viesse a torna-los
finalmente os senhores de suas vozes, os emissários de seus mundos
de vida e cultura, e ainda os denunciadores críticos de uma
sociedade ainda tão desigual em tudo que quando três irmãos
goianos, lavradores e militantes de suas causas escrevem livros, em
um primeiro momento este feito inesperado apareça em nosso
“cenário cultural” como algo absolutamente “novo e revelador”, e
reclame de um antropólogo e professor um “prefácio” como este.
As vozes caladas enfim agora falam. Os homens e as mulheres
das florestas, sertões, cerrados, campos e beiras de cidades, agora
descansam por alguns momentos as suas enxadas e tomam, como
nós, a caneta, ou a máquina de escrever, o mesmo o computador, e...
escrevem.
Primeiro foi o tempo em que íamos ouvi-los como artistas de
voz e viola. Suas falas de sofrimento e sujeição injusta valiam a pena
serem ouvidas apenas quando postas em letra e música de modas de
viola ou de catira.
Dou o testemunho do que eu vivi no mesma Goiás dos
“Irmãos Moreira Coelho”. Nos primeiros tempos de um
envolvimento que sonhava ser verdadeiro e fecundo com “eles”,
mesmo quando os ouvíamos atentos e buscávamos dialogar com
eles, sabíamos que algo, entre teorias e práticas de ação social,
precisaria ser trazido por nós e entregue a eles.
4
Lembro-me dos tempos em que as igrejas católicas
“comprometidas com o povo” julgavam ainda necessário e
politicamente compreensível o silenciar suas práticas religiosas, das
rezas de terço às folias de Santos Reis e delas aos vários cantos de
piedade popular, para substitui-los por palavras, preces e cantos que
de tão “conscientizadores” era simplesmente ignorados pelos que os
ouviam com respeito, porque trazidos por “nós”, mas que quase
nada sabiam transmitir a outros-que-não-nós, a não ser um
compassivo ar de escuta respeitosa.
Aprendemos a mudar. Passaram os anos e agora eram eles,
lavadores de enxada, caneta, voz e viola, os que criavam as palavras,
a músicas e até mesmo as preces que, agora sim, podiam ser falas de
um diálogo. Porque pela primeira vez vinham “de baixo para cima e
de dentro para fora”.
E agora eles escrevem.
Três irmãos de origem camponesa, nascidos em Taquaral, em
Goiás, escreveram os seus livros. Foram, como tantos e tantos,
alfabetizados tardios e precários. Sentaram em carteiras de
escolinhas rurais por pouco tempo. São, como tantas pessoas vindas
dos sítios e fazendas (ao tempo dos “moradores” de terras de
fazendeiros), de cerrados e sertões, em uma metade o que
aprenderam em poucos anos de ensino escolar. Em uma outra
metade, o que, como eles costumam dizer “aprenderam com a vida”
e, mais ainda, entre diálogos uns com os outros. Desde “moços”,
sobretudo Parcival e José Moreira tornaram-se compositores de
letras e músicas que começam com dolentes modas de viola, e que
com o passar do tempo tornam-se também as músicas cujas letras
denunciam as vidas que eles, seus familiares, amigos e
companheiros de lutas e destinos viveram e vivem ainda.
Talvez este seja um caso único no Brasil. Possivelmente até
mesmo na América Latina ou mesmo no Mundo inteiro. Três irmãos
que entre a enxada, o violão e a caneta, escrevem livros.
Dois eles já publicaram os seus. Parcival Moreira (que em seu
livro assim também: “o poeta filho da terra”, publicou em 2001 o seu
livro Grito sem Eco. Um verdadeiro pequeno tratado camponês,
todo ele entre poemas, alguns deles musicados pelo próprio Parcival,
sobre o que os homens do passado e de agora realizam entre eles, e
também sobre a natureza. Denúncias tornadas poesia sobre uma
5
opressão que, de modo diferente dos que (como eu mesmo)
escrevem “sobre eles, os do povo”, viveu em sua vida o que depõem
em seus escritos. O seu livro é uma “edição do autor” e foi publicado
em Inhumas.
Oscavú José Coelho, dos três irmãos lavradores-e-escritores,
o que já nos deixou, publicou em vida: Recordar é bom, mas dói.
Diferente do irmão Parcival, Oscavú escreve poemas, mas também
textos em prosa. Ele eles são ora a memória de tempos já passados
há muitos anos. Outros são verdadeiras pequenas etnografias da
rústica vida camponesa do passado e do presente. Como quando
com uma refinada sabedoria Oscavú descreve passo a passo o que
compõe e como se constrói um “carro de bois”. E, então, o que nós,
folcloristas, antropólogas e outros cientistas da sociedade e da
cultura escrevemos “de fora para dentro” eis que um “homem do
campo” escreve “de dentro para fora”.
Oscavú não viveu para ver o seu segundo livro editado. Nós
nos reunimos, um grupo de leitores e amigos dele, e editamos
Histórias que a história não conta. Como o anterior, seu novo livro
entremeia poemas e artigos em prosa. Mais do que no livro anterior,
Oscavú nos deixa em seu livro póstumo a memória não tanto da vida
camponesa do passado, mas a atualidade da condição camponesa e
das lutas do povo, de ele próprio foi um ativo militante, desde os
tempos de seu envolvimento, junto com os seus irmãos escritores, no
Movimento de Educação de Base, de Goiás.
Quem viveu a ventura de haver lido os três livros dos outros
dois irmãos (e também quem até agora não os leu), tem diante de si
estes Sonhos de Poeta, de José Moreira Coelho. E com este livro
completa-se uma surpreendente, rara ou até hoje nunca criada
antes, quadrilogia de livros de uma trilogia de irmãos camponês.
Que a suposta ingenuidade do livro não engane o leitor. Trata-se de
uma coletânea de poemas que, no seu conjunto, acabam colocando
diante do leitor uma quase biografia poética de um homem que aos
seus 92 anos foi “menino da roça”, um “lavrador de cabo de enxada”,
um camponês goiano, um militante de causas populares e, através de
sua presença no Movimento de Educação de Base, um verdadeiro
educador. Quem conviveu com ele, como eu mesmo, testemunha o
quanto aprendeu e segue aprendendo este sonhador tanto da “vida
na roça” quando ela era como foi, quanto como ela deverá ser um
6
dia, quando a poesia de seus versos for a profecia realizada de um
mundo justo, igualitário, inclusivo, fraterno e solidário
Em Sonhos de um Poeta, José Moreira se apresenta, logo na
pequenina introdução, como um “verdadeiro sertanejo goiano,
amante das raízes do verdadeiro sertão. E os poemas não falam mais
do que esta singela e invejável vocação.
Zé Moreira, como sempre o chamamos (mas ele é “Zé Coelho”
para outras pessoas), repete em seu livro a experiência dos irmãos.
Mais próximo de Parcival do que de Oscavú, seu livro evita a prosa
de memória e a memória de lutas, e é um livro de poemas. Tal como
os outros dois irmãos, os escritos de José Moreira dividem-se entre a
memória saudosa dos “velhos tempos”, a poesia da vida rural e dos
seus feitos e afetos, tão costumeira nas modas-de-viola, e a “poesia
engajada” vivida e pensada por que, tal como Parcival e Oscavú,
viveu como presença, partilha e luta o que depois escreveu.
Será preciso uma sensibilidade que andou perdida entre nós e
que agora, passo a passo recuperamos, para saber não apenas ler
com a “cabeça crítica”, mas também com uma sensível “mente
aberta”, esses escritos – alguns deles também musicados – que nem
por serem os de um “poeta do povo”, deixam de valer como uma
verdadeira, fecunda e bela arte da poesia.
E este livro chega justamente no momento em que nós, leitores,
estudantes, educadores, cientistas e escritas/es “eruditos”
aprendemos uma lição de cujo saber primeiro fugimos sempre que
pudemos. Depois, incorporamos ao nosso próprio saber, como a
“fala do outro” em nossas aulas e escritos. E agora nos defrontamos
com ela, face-a-face. E já era bem tempo.
Comecei este escrito lembrando um livro escrito originalmente em
idioma Ianomami, traduzido para o Francês, editado em Paris e,
agora, em Português, no Brasil. Outros exemplos antes se somavam
e agora se multiplicam.
“Eles” falavam. Diziam a sua palavra e demoramos milênios,
séculos, anos para ouvi-los. Primeiro os ouvimos como um “outro
desigual”. Agora eles nos ensinam a ouvi-los e a lê-los como “outros
diferentes”. Índios escrevem sobre suas vidas e culturas. E em uma
antropologia “em crise”, mas também em tempos de tirar do corpo
véus e olhar o seu rosto e outras faces de frente, tal como são e não
como as pretendemos desenhar entre nossas teorias e
7
“interpretações”. Alguns indígenas e de outros recantos do Mundo
saltam fronteiras e nos estudam. E como uma insuspeitada
sabedoria são eles agora os que, em seus termos e com os seus
saberes, sentidos e significados, nos interpretam.
Quilombolas escrevem sobre seus quilombos e, desde eles,
sobre as suas lutas para conquistarem aqui e ali porções de terra
onde família, comunidades, povos possam viver de seu trabalho com
as mãos uma vida digna. Porções de terra por todo o Brasil, quase
sempre bem menores e menos férteis do que aquelas que fazendeiros
e latifundiários usam 0 depois de usurpar – para “soltar o gado”, ou
para espalharem entre o campo, o sertão e o cerrado, os desertos
verdes da soja ou do eucalipto.
E, como os “irmãos Moreira Coelho”, camponeses largam por
momentos a enxada, “tomam a pena” e... escrevem. Saibamos lê-los
e dialogar com eles. E não mais como os “pitorescos homens da roça
que escrevem”, mas como outros mestres, sábios e doutores.
Senhores de um outro saber e de mundos de vida e de
culturas que nem por até hoje não possuírem os poderes, a
visibilidade, a legitimidade, os sistemas e os rituais do que as
nossas, entre “letrada”, “acadêmicas” e “eruditas”, deixam de gerar,
como os produtos que eles arrancam da terra e que na cidade nos
alimentam, outros frutos que agora aí estão, como este Sonhos de
um Poeta, para nos alimentar também a mente e o espírito.
Carlos Rodrigues Brandão
Rosa dos Ventos – Sul de Minas
Inverno de 2016 – quadra da Lua Crescente
8
Nesta versão “nas nuvens”
este escrito, que foi antes um livro
um capítulo de livro, um artigo
ou um outro qualquer texto,
pode ser acessado, lido e utilizado
de forma livre, solidária e gratuita.
Outros escritos meus
podem ser acessados em
www.apartilhadavida.com.br
Você também pode gostar
- Se não é a canção nacional, para lá caminha: a presentificação da nação na construção do samba e do fado como símbolos identitários no Brasil e em Portugal (1890-1942)No EverandSe não é a canção nacional, para lá caminha: a presentificação da nação na construção do samba e do fado como símbolos identitários no Brasil e em Portugal (1890-1942)Ainda não há avaliações
- Axé, Malungo! - Roberto ZwetschDocumento20 páginasAxé, Malungo! - Roberto ZwetschLCFAinda não há avaliações
- Educacaoem Linha 12Documento64 páginasEducacaoem Linha 12Brenda Dos SantosAinda não há avaliações
- Gustavo Barroso - Ao Som Da ViolaDocumento744 páginasGustavo Barroso - Ao Som Da Violazoopo100% (3)
- Antologia de poesia afro-brasileira: 150 anos de consciência negra no BrasilNo EverandAntologia de poesia afro-brasileira: 150 anos de consciência negra no BrasilAinda não há avaliações
- Brasil e Cabo Verde: Diálogo LiterárioDocumento12 páginasBrasil e Cabo Verde: Diálogo LiterárioPriscila GenelhúAinda não há avaliações
- Da senzala ao palco: Canções escravas e racismo nas Américas, 1870-1930No EverandDa senzala ao palco: Canções escravas e racismo nas Américas, 1870-1930Ainda não há avaliações
- Heroínas Negras no CordelDocumento12 páginasHeroínas Negras no CordelCamila DalcinAinda não há avaliações
- Monteiro Lobato: A encarnação do espírito brasileiroDocumento277 páginasMonteiro Lobato: A encarnação do espírito brasileiroThati CMAinda não há avaliações
- Carta aberta de Abdias Nascimento ao 1o Festival de Artes NegrasDocumento9 páginasCarta aberta de Abdias Nascimento ao 1o Festival de Artes NegrasTairamoslealAinda não há avaliações
- Cancioneiro Dos Ciganos Cadernos Do Mundo InteiroDocumento122 páginasCancioneiro Dos Ciganos Cadernos Do Mundo InteiroMila MilaAinda não há avaliações
- Texto - 3 - Cunha (1986) Problema - de - Lingua - Conflito - de - PaixoesDocumento9 páginasTexto - 3 - Cunha (1986) Problema - de - Lingua - Conflito - de - PaixoesFelype Lourenço MenezesAinda não há avaliações
- Homens verticais ao sol: a construção do vaqueiro em Eurico Alves Boaventura (1928-1963)No EverandHomens verticais ao sol: a construção do vaqueiro em Eurico Alves Boaventura (1928-1963)Ainda não há avaliações
- A literatura do movimento dos novovos intelectuais de Angola na década de 1950Documento16 páginasA literatura do movimento dos novovos intelectuais de Angola na década de 1950KarinaNovaisAinda não há avaliações
- Capoeiras e malandros: Pedaços de uma sonora tradição popular (1890-1950)No EverandCapoeiras e malandros: Pedaços de uma sonora tradição popular (1890-1950)Ainda não há avaliações
- Raphael Ribeiro Da Silva - Por Uma Ética Da Orixalidade Nos Brasis ContemporâneosDocumento11 páginasRaphael Ribeiro Da Silva - Por Uma Ética Da Orixalidade Nos Brasis ContemporâneosAna Beatriz OliveiraAinda não há avaliações
- Uma mulher negra denunciando a escravidão no século XIXDocumento17 páginasUma mulher negra denunciando a escravidão no século XIXNarumi ItoAinda não há avaliações
- A Vida na Fronteira: Aventura de Camponeses Brasileiros na Terra ParaguaiaNo EverandA Vida na Fronteira: Aventura de Camponeses Brasileiros na Terra ParaguaiaAinda não há avaliações
- A voz reveladora de Mário de AndradeDocumento10 páginasA voz reveladora de Mário de AndradeSueli SaraivaAinda não há avaliações
- Águas, Flores & Perfumes: Resistência Negra, Atabaques e Justiça na República (Salvador - BA, 1890-1939)No EverandÁguas, Flores & Perfumes: Resistência Negra, Atabaques e Justiça na República (Salvador - BA, 1890-1939)Ainda não há avaliações
- Entre A Oralidade e A Escrita Um Estudo Dos Folhetos de Cordel NordestinosDocumento13 páginasEntre A Oralidade e A Escrita Um Estudo Dos Folhetos de Cordel Nordestinosjulianaoliveira29Ainda não há avaliações
- Gritos revolucionários e devoção ao sagrado nos contos de Boaventura CardosoNo EverandGritos revolucionários e devoção ao sagrado nos contos de Boaventura CardosoAinda não há avaliações
- Pilhagem epistêmica e literatura brasileiraDocumento5 páginasPilhagem epistêmica e literatura brasileiraPoliana Macedo100% (1)
- História Do CordelDocumento16 páginasHistória Do CordelcrlosAinda não há avaliações
- Poemas Negros Jorge de Lima PDFDocumento193 páginasPoemas Negros Jorge de Lima PDFAlisson Da HoraAinda não há avaliações
- A literatura menor revela outros sentidos da históriaDocumento28 páginasA literatura menor revela outros sentidos da históriaJrenato De Carvalho BarbosaAinda não há avaliações
- Literatura de Cordel e Realismo MágicoDocumento229 páginasLiteratura de Cordel e Realismo MágicoGuilherme TruccoAinda não há avaliações
- Ao Som Sa Viola (Folklore) - Gustavo Barroso PDFDocumento760 páginasAo Som Sa Viola (Folklore) - Gustavo Barroso PDFLeandro Torres100% (2)
- Literatura de cordel no litoral sul da BahiaDocumento10 páginasLiteratura de cordel no litoral sul da BahiaIraneidson CostaAinda não há avaliações
- Darwinismo SocialDocumento12 páginasDarwinismo SocialDenise BarataAinda não há avaliações
- O mar, a floresta e a resistênciaDocumento173 páginasO mar, a floresta e a resistênciaGustavo TanusAinda não há avaliações
- Entrevista Com Oswaldo de CamargoDocumento18 páginasEntrevista Com Oswaldo de Camargoluciano.silvaAinda não há avaliações
- A Carta de Agostinho NetoDocumento22 páginasA Carta de Agostinho Netokudi escritorAinda não há avaliações
- Texto PROVA I - Índios de CArvajal e AcuñaDocumento7 páginasTexto PROVA I - Índios de CArvajal e AcuñaRicardo Lopes DiasAinda não há avaliações
- O tango como expressão da realidade dos subúrbiosDocumento9 páginasO tango como expressão da realidade dos subúrbiosdonnysantosAinda não há avaliações
- CUNHA, Manuela Carneira Da - "Cultura" e Cultura: Conhecimentos Tradicionais e Direitos IntelectuaisDocumento63 páginasCUNHA, Manuela Carneira Da - "Cultura" e Cultura: Conhecimentos Tradicionais e Direitos Intelectuaispru.afc83% (12)
- E de REPENTE FOI O CORDEL - Artigo Laura Benitez Brickmann.2009-10Documento15 páginasE de REPENTE FOI O CORDEL - Artigo Laura Benitez Brickmann.2009-10laubzAinda não há avaliações
- Cascudo o Erudito No Popular1 PDFDocumento10 páginasCascudo o Erudito No Popular1 PDFFrancisca Cardoso FranlemosAinda não há avaliações
- 477 C 2 CDocumento228 páginas477 C 2 CFrancisco Marcio SousaAinda não há avaliações
- Literatura de Cordel em 40Documento49 páginasLiteratura de Cordel em 40Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- Toco, Farofa e MarafoDocumento5 páginasToco, Farofa e MarafoDiego HenryAinda não há avaliações
- Espírito Brasileiro: Um Olhar UniversitárioDocumento511 páginasEspírito Brasileiro: Um Olhar UniversitárioFátima Sobral Fernandes100% (1)
- Literatura Negra No BrasilDocumento35 páginasLiteratura Negra No Brasilsuelen palharesAinda não há avaliações
- CULTURA - Livro - Bibliografia Critica Etnologia Brasileira BALDUS-1954 PDFDocumento439 páginasCULTURA - Livro - Bibliografia Critica Etnologia Brasileira BALDUS-1954 PDFDouglas Casula100% (1)
- Edison Carneiro Religioes Negras No Brasil PDFDocumento206 páginasEdison Carneiro Religioes Negras No Brasil PDFJúnior Alves100% (5)
- Casa Grande SenzalaDocumento3 páginasCasa Grande SenzalaRafaelLosadaAinda não há avaliações
- A Década de 50: O Movimento dos Novos Intelectuais de AngolaDocumento10 páginasA Década de 50: O Movimento dos Novos Intelectuais de Angolales_parolesAinda não há avaliações
- Augusto Dos AnjosDocumento3 páginasAugusto Dos AnjosAlvaro Vieira PintoAinda não há avaliações
- Jorge de Lima e Cecília Meireles - As Vozes Apagadas Do Modernismo BrasileiroDocumento16 páginasJorge de Lima e Cecília Meireles - As Vozes Apagadas Do Modernismo BrasileiroAnaAinda não há avaliações
- E Book o Cordel Do Brasi Caboco Enriquecendo As Aulas Com A Literatura Do SertaoDocumento21 páginasE Book o Cordel Do Brasi Caboco Enriquecendo As Aulas Com A Literatura Do SertaoAngelo Oliveira100% (3)
- Entrevista Com Gerardo de Mello Mourão.Documento9 páginasEntrevista Com Gerardo de Mello Mourão.integralismorio100% (1)
- SANTOS, Ariel. Resenha Do Livro - África Explicada Aos Meus Filhos de Alberto Costa e Silva.Documento5 páginasSANTOS, Ariel. Resenha Do Livro - África Explicada Aos Meus Filhos de Alberto Costa e Silva.sly。Ainda não há avaliações
- A Tragédia Grega PDFDocumento13 páginasA Tragédia Grega PDFGeraldo Hillesheim100% (2)
- De CAMPOS Plano Piloto para Poesia ConcretaDocumento2 páginasDe CAMPOS Plano Piloto para Poesia ConcretacolaborAinda não há avaliações
- Coerência, Redes Semânticas e Continuidade de SentidoDocumento8 páginasCoerência, Redes Semânticas e Continuidade de SentidoPhillip FelixAinda não há avaliações
- Como preparar uma pregação em 5 passosDocumento14 páginasComo preparar uma pregação em 5 passosjoeldtbatistaAinda não há avaliações
- Culto de Adoração IDocumento14 páginasCulto de Adoração IJose Vitor M. LopesAinda não há avaliações
- Aldomon Ferreira - Mecanismo Da Projecao AstralDocumento10 páginasAldomon Ferreira - Mecanismo Da Projecao Astralalvorecerdeluz100% (1)
- CP 086565Documento166 páginasCP 086565Marcelo Adrián IglesiasAinda não há avaliações
- TrovadorismoDocumento2 páginasTrovadorismoeduarda_dacoguAinda não há avaliações
- Estilistica Fônica Presente Nas Composições de Sandy LeahDocumento10 páginasEstilistica Fônica Presente Nas Composições de Sandy LeahFernando Gonçalves VieiraAinda não há avaliações
- Dicas Ita Portugues PDFDocumento10 páginasDicas Ita Portugues PDFJeliane GonçalvesAinda não há avaliações
- Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa 9o AnoDocumento7 páginasAvaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa 9o Anoricardocunha73Ainda não há avaliações
- Poema Aula PortuguêsDocumento7 páginasPoema Aula PortuguêsfernandaAinda não há avaliações
- Frei Luís de SousaDocumento9 páginasFrei Luís de SousaJosé Pedro Viana100% (1)
- Casimiro de AbreuDocumento12 páginasCasimiro de AbreuLIDIANEAinda não há avaliações
- 2 Dinamicas Do Bumba Meu Boi MaranhenseDocumento28 páginas2 Dinamicas Do Bumba Meu Boi MaranhenseTomtom Fulô KaiowáAinda não há avaliações
- Os 10 mandamentos bíblicos e os de Lutero: uma comparaçãoDocumento1 páginaOs 10 mandamentos bíblicos e os de Lutero: uma comparaçãoRolf DietzAinda não há avaliações
- Centro Zen Budista do Rio de Janeiro apresenta o Sutra do Coração da Grande Sabedoria CompletaDocumento2 páginasCentro Zen Budista do Rio de Janeiro apresenta o Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completakannaime50% (2)
- Impactos da tecnologia na saúde infantilDocumento8 páginasImpactos da tecnologia na saúde infantilArianne ResendeAinda não há avaliações
- Necromante: Mestre das Energias EspirituaisDocumento8 páginasNecromante: Mestre das Energias EspirituaisMarcos LoureiroAinda não há avaliações
- A Minha Avó Pede DesculpaDocumento2 páginasA Minha Avó Pede DesculpaAdélia MarquesAinda não há avaliações
- 900 Questões Gramática Aplicada para Concursos - Décio SenaDocumento280 páginas900 Questões Gramática Aplicada para Concursos - Décio SenaMarques Pescê100% (2)
- O sabor do Evangelho: cristãos abençoados temperam o mundoDocumento15 páginasO sabor do Evangelho: cristãos abençoados temperam o mundoTiago da SilvaAinda não há avaliações
- Derrote MamomDocumento16 páginasDerrote MamomMarkHenry0% (1)
- Fate Acelerado - DefensoresDocumento6 páginasFate Acelerado - DefensoresJeferson MoreiraAinda não há avaliações
- SEM-FOLEGO DegustacaopdfDocumento19 páginasSEM-FOLEGO DegustacaopdfManuela Machado da SilvaAinda não há avaliações
- A Abertura Do Livro Da LeiDocumento2 páginasA Abertura Do Livro Da LeiDocumentoLivreAinda não há avaliações
- Ensaios Sobre Isaias 53Documento2 páginasEnsaios Sobre Isaias 53kamilacardosoAinda não há avaliações
- LITERATURA AMAZÔNICA SEUS MITOS E SUAS LENDAS - Brasil EscolaDocumento21 páginasLITERATURA AMAZÔNICA SEUS MITOS E SUAS LENDAS - Brasil Escolaguto_dominguesAinda não há avaliações
- Tendências culturais entre o naturalismo e as vanguardasDocumento33 páginasTendências culturais entre o naturalismo e as vanguardasHulkão GamerAinda não há avaliações
- Lição 11 Como Ser Guiado Pelo Espírito SantoDocumento2 páginasLição 11 Como Ser Guiado Pelo Espírito Santodoliveira_967048100% (1)
- O cemitério das palavras que eu nunca disse: Poemas de uma garota não tão comum sobre o cotidianoNo EverandO cemitério das palavras que eu nunca disse: Poemas de uma garota não tão comum sobre o cotidianoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (10)
- Um caso de polícia: a censura teatral no Brasil dos séculos IX e XXNo EverandUm caso de polícia: a censura teatral no Brasil dos séculos IX e XXAinda não há avaliações
- Histórias e culturas indígenas na Educação BásicaNo EverandHistórias e culturas indígenas na Educação BásicaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Epigramas de Calímaco - Bilíngue (Grego-Português)No EverandEpigramas de Calímaco - Bilíngue (Grego-Português)Nota: 2.5 de 5 estrelas2.5/5 (2)
- Educação física, corpo e tradição: o jogo das comunidades tradicionaisNo EverandEducação física, corpo e tradição: o jogo das comunidades tradicionaisAinda não há avaliações
- A história do Brasil para quem tem pressa: Dos bastidores do descobrimento à crise de 2015 em 200 páginas!No EverandA história do Brasil para quem tem pressa: Dos bastidores do descobrimento à crise de 2015 em 200 páginas!Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (17)
- Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de FutebolNo EverandOs Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de FutebolAinda não há avaliações
- Pedrinhas miudinhas: Ensaios sobre ruas, aldeias e terreirosNo EverandPedrinhas miudinhas: Ensaios sobre ruas, aldeias e terreirosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- Memórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazistaNo EverandMemórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (5)
- Operação Revelação:: Caso Bruxo - o maior erro histórico de um delegado no BrasilNo EverandOperação Revelação:: Caso Bruxo - o maior erro histórico de um delegado no BrasilAinda não há avaliações
- Jesus todo dia: Encontre‐se com Deus todos os dias e deixe o amor transbordar na sua vidaNo EverandJesus todo dia: Encontre‐se com Deus todos os dias e deixe o amor transbordar na sua vidaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (13)
- Marketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoNo EverandMarketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoAinda não há avaliações
- Preso na Gaiola: A Criminalização do Funk Carioca nas Páginas do Jornal do Brasil (1990-1999)No EverandPreso na Gaiola: A Criminalização do Funk Carioca nas Páginas do Jornal do Brasil (1990-1999)Ainda não há avaliações