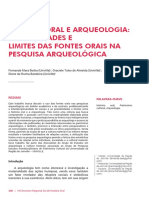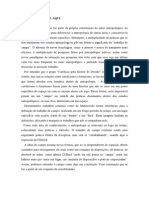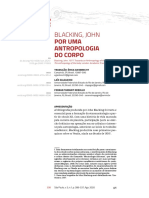Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aprender e Ensinar A Fazer Uma Antropologia Dos Arquivos
Aprender e Ensinar A Fazer Uma Antropologia Dos Arquivos
Enviado por
FlavianaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aprender e Ensinar A Fazer Uma Antropologia Dos Arquivos
Aprender e Ensinar A Fazer Uma Antropologia Dos Arquivos
Enviado por
FlavianaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
APRENDER E ENSINAR A FAZER UMA
ANTROPOLOGIA DOS ARQUIVOS
RESUMO
O fazer antropológico, ao menos desde Malinowski, está profundamente ligado à
ideia de produção de dados etnográficos, a partir da ida ao campo, de modo que o
contato com o outro, a troca, o encontro, passaram a ser pensados como elementos
constitutivos da produção do conhecimento em antropologia, o “estar lá”. Esta
relação complexifica-se ao pensarmos a possibilidade de produzirmos uma
Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 antropologia do arquivo, na qual nossos "nativos" falam por meio de documentos,
cartas, papeis empoeirados etc. Neste trabalho propomo-nos a refletir sobre o
processo de aprender e de ensinar a como produzir uma antropologia dos arquivos,
tomando como fio condutor uma pesquisa em curso acerca da história das ciências
sociais em Santa Catarina.
Amurabi Oliveira Palavras-chave: Ensino de antropologia. Formação de pesquisadores. Antropologia
do arquivo.
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
LEARN AND TEACH TO DO AN
amurabi1986@gmail.com
ANTHROPOLOGY OF ARCHIVES
Inaê Iabel Barbosa ABSTRACT
The anthropological work, at least since Malinowski, is deeply connected to the idea
of producing ethnographic data, from the time of going to the field, so that the contact
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) with the other, the exchange, the encounter, began to be thought of as constitutive
inaeib@outlook.com elements of production of knowledge in anthropology, the "being there". This
relationship becomes more complicated when we think about the possibility of
producing an anthropology of the archive, in which our "natives" speak through
documents, letters, dusty papers, etc. In this work we propose to reflect on the
process of learning and teaching how to produce an anthropology of archives, taking
as a guideline an ongoing research about the history of social sciences in Santa
Catarina.
Keywords: Teaching of anthropology. Training of researchers. Anthropology of the
archive.
Submetido em: 01/12/2018
Aceito em: 07/02/2019
Ahead of print em: 0903/2019
Publicado em: 25/04/2019
http://dx.doi.org/10.28998/2175-6600.2019v11n23p405-415
Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
1 INTRODUÇÃO
Pensar o ensino tem sido uma questão relevante para o campo da antropologia brasileiro, como
bem demonstra a presença recorrente dessa temática, desde as primeiras Reuniões Brasileiras de
Antropologia (RBA). Observa-se que nesse espaço institucional o debate conflui, sobretudo, para a
discussão sobre o ensino de antropologia no ensino superior, voltado especialmente para a formação de
antropólogos, porém nos últimos anos, o escopo da discussão tem sido ampliada, incluindo-se a discussão
sobre o ensino de antropologia para “não antropólogos”, ou ainda sobre o ensino de antropologia na
educação básica, especialmente por meio da disciplina sociologia no currículo escolar a partir de 2008
(OLIVEIRA, 2017).
Apesar desse relevante espaço institucional, é válido indicar que a discussão sobre o ensino de
antropologia é marginal nos departamentos de ciências sociais/antropologia. Como bem aponta Moraes
(2003), historicamente os cursos de licenciatura ocupam uma posição secundária nos departamentos de
ciências sociais, que tendem a privilegiar a formação em nível de bacharelado. Mesmo ao considerarmos
o incremento da discussão sobre ensino junto aos cursos de ciências sociais, esse tem se concentrado na
reflexão sobre o ensino de sociologia na educação básica, e, ainda que possamos reconhecer que a
presença dessa disciplina inclui conhecimentos de antropologia e ciência política, o ensino dessas outras
duas ciências sociais apenas tem tangenciado a discussão.
No presente trabalho, almejamos desenvolver uma reflexão sobre os processos de ensino e de
aprendizagem da antropologia, assumindo como fio condutor a reflexão sobre o ensino da antropologia
no uso de arquivos. Consideramos que essa é uma reflexão fundamental, na medida em que nos possibilita
relativizar a ideia do fazer antropológico, bem como o próprio lugar da etnografia na antropologia.
Este trabalho possui dois autores, que ocupam justamente posições complementares nesse
processo de ensino e aprendizagem: de professor e de aluna. Portanto, parte das reflexões que são aqui
trazidas originam-se no desenvolvimento de um projeto de pesquisa sobre a história das ciências sociais
em Santa Catarina, o que envolveu também discussões em grupo.
Na primeira parte do trabalho, discutiremos a questão do arquivo no campo da antropologia, e,
subsequentemente nas sessões seguintes, realizaremos alguns apontamentos acerca da questão do ensino
e da aprendizagem dessa ciência neste contexto.
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 406
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
2 O ARQUIVO COMO CAMPO
Qualquer estudante de ciências sociais/antropologia se depara com disciplinas que vão discutir a
história da antropologia, indicando suas origens ainda no século XIX, e apontando para uma sequência de
escolas de pensamento, normalmente iniciando-se com o evolucionismo britânico. Nomes como Lewis
Morgan (1818-1881), Edward Tylor (1832-1917), James Frazer (1854-1941) são amplamente conhecidos
pelos estudantes quando iniciados nesse campo, e, de forma muito simplista, indica-se que além de terem
uma concepção de cultura “única” e uma visão evolucionista do desenvolvimento social e cultural das
sociedades humanas, também teriam como uma característica em comum a ausência de trabalho de
campo em suas trajetórias.
No processo de ensino da história da antropologia, normalmente, segue-se após a apresentação
da escola evolucionista, para o paradigma inaugurado por Bronislaw Malinovski (1884-1942), que teria
inaugurado a partir de sua obra seminal Os Argonautas do Pacífico Ocidental (1922) a sistematização do
trabalho de campo, de tal modo que esse fazer passa a ser constitutivo da produção do conhecimento em
antropologia.
A escrita etnográfica passa a ser um objeto de constante reflexão por parte dos antropólogos.
Trabalhos como os de Clifford (2002) e Geertz (2009) seguem as pistas desse fio condutor, indicando a
centralidade que o trabalho de campo possui, para o fazer antropológico. Nesta direção, pensar a pesquisa
com arquivos, fugindo da construção “tradicional” de trabalho de campo, compreendido como “estar lá”
(GEERTZ, 2009), nos remete a um desafio de reaprender a pensar antropologicamente.
Nessa direção, são interessantes algumas críticas que têm sido elaboradas à sobreposição entre a
ideia de etnografia e de antropologia, que buscam esclarecer, justamente, que essas não são categorias
equivalentes. Mais ainda, busca-se esclarecer como a ideia de trabalho de campo, no caso da antropologia,
não necessariamente se equivale à ideia de etnografia. Conforme Ingold (2016, p. 406-7):
Durante um determinado período de tempo, os encontros com as pessoas são compostos e
incorporados àquilo que se veio a conhecer como trabalho de campo. Portanto, as objeções
levantadas contra o etnografar dos primeiros se aplicam também ao segundo. A etnograficidade
não é mais intrínseca ao trabalho de campo do que aos encontros do qual este é feito. E a confusão
entre etnografia e trabalho de campo é uma das mais comuns na disciplina, e, especialmente
insidiosa por ser raramente questionada. Reconhece-se que o campo nunca é vivido enquanto tal
quando você está de fato lá, ocupando-se dos afazeres da vida quotidiana – que ele só emerge
quando você o deixou, e começa a escrever sobre ele. Talvez o mesmo não valha para o
etnográfico. Para que se seja consistente, talvez se deva remover tanto o “etnográfico” quanto o
“campo” do trabalho de campo etnográfico, e referir-se simplesmente ao modo já consolidado
de trabalhar: a observação participante. Como apontaram Jenny Hockey e Martin Forsey (2012),
etnografia e observação participante não são a mesma coisa.
Ao indicar que há uma confusão entre etnografia e trabalho de campo, e que essa confusão se
estende à relação entre etnografia e antropologia. Isso nos abre a possibilidade de repensarmos a ideia de
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 407
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
trabalho de campo. Os arquivos também podem ser um campo, especialmente se considerarmos o
arquivo como um artefato cultural, que também é produzido pelos indivíduos. Isso se torna ainda mais
evidente quando tratamos de arquivos pessoais.
No trabalho que temos desenvolvido, temos trabalhado com a história do ensino de ciências sociais
em Santa Catarina, a partir, principalmente, do arquivo institucional da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), incorporando ainda os arquivos da Faculdade Catarinense de Filosofia, criada em 1955
e que depois passa a integrar a UFSC. Ainda que se trate de um arquivo institucional, estamos lidando com
planos de ensino, memorandos, pontos de concurso, elaboração de bancas examinadoras, relatórios de
ensino produzidos por professores. Nessa direção nos são válidos ainda os apontamentos realizados por
Cunha (2004, p. 293):
Mary Des Chenes (1997) questionou a naturalização das fontes arquivísticas e o lugar destinado
às investigações em arquivos dentro da disciplina. Observou, por exemplo, a legitimidade
conferida aos textos etnográficos, por descreverem e documentarem relações interpessoais
supostamente diretas, e a pouca relevância dos documentos oriundos dos arquivos, vistos como
espécies de relatos frios, maculados por camadas imprecisas de interpretação. A exclusão dos
arquivos como um possível campo da atividade etnográfica pressupõe a centralidade de
modalidades específicas de pesquisa. "Documentos encontrados 'no campo'", argumenta Des
Chenes, "são tratados como sendo algo de categoria distinta daqueles depositados em outros
lugares" (1997:77). O caráter aparentemente artificial e potencialmente destruidor das supostas
vozes e consciências nativas conferiria aos arquivos uma posição desprivilegiada entre os lugares
nos quais o conhecimento antropológico é possível. Por esse viés, a pesquisa em arquivo aparece
como antítese da pesquisa de campo e sua transformação em uma etnografia é vista com
ceticismo. Essa posição se deve, em parte, ao legado funcionalista que postulou a centralidade da
primeira como locus da prática antropológica. Mas não só. Afinal, documentos não falam e o
diálogo com eles — quando alvo de experimentação — implica técnicas não exatamente similares
às utilizadas no campo. No entanto, os antropólogos têm pretendido bem mais do que ouvir e
analisar as interpretações produzidas pelos sujeitos e grupos que estudam, mas entender os
contextos — social e simbólico — da sua produção. Aqui me parece residir um ponto nevrálgico
que possibilita tomarmos os arquivos como um campo etnográfico. Se a possibilidade de as fontes
"falarem" é apenas uma metáfora que reforça a idéia de que os historiadores devem "ouvir" e,
sobretudo, "dialogar" com os documentos que utilizam em suas pesquisas, a interlocução é
possível se as condições de produção dessas 'vozes' forem tomadas como objeto de análise —
isto é, o fato de os arquivos terem sido constituídos, alimentados e mantidos por pessoas, grupos
sociais e instituições.
Essa possibilidade de deslocamento, que redimensiona o arquivo como campo próprio da
antropologia é o fio condutor de nossa discussão sobre ensino de aprendizagem na antropologia. A ideia
que nos norteia é explorar o modo de como ensinar e de como aprender determinados recursos da
prática antropológica, o que também nos desestabilizar ao nos confrontar com os outros modos com os
quais recursivamente temos acionado a antropologia.
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 408
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
3 ENSINAR ANTROPOLOGIA: AJUDANDO A REPENSAR A IDEIA DE
CAMPO
Pensar a atividade do ensino de antropologia soa sempre um pouco nebuloso, uma vez que é
recorrente a ideia de que não se pode ensinar a como fazer uma etnografia (PEIRANO, 1995), ou, melhor
dizendo, que se pode ensinar no máximo determinados procedimentos de ida a campo etc., mas que não
se pode ensinar a como fazer campo, ou para usar outra expressão, não é possível ensinar a como se ter
“anthropological blues” (DAMATTA, 1978).
Podemos afirmar que há certa tradição “antimanualesca” e “antididática” na antropologia brasileira,
segundo a qual os estudantes devem iniciar a prática etnográfica principalmente por meio da leitura de
boas etnografias, assim como da ida a campo. Com relação ao primeiro ponto, parece-nos que os cursos
de ciências sociais no Brasil conseguiram consolidar uma tradição bastante erudita, na qual os estudantes
têm acesso a uma ampla literatura (sobretudo euro-americana), porém, com relação à ida a campo,
podemos indicar que essas ainda são pontuais e concentradas ao final do curso, apenas quando o estudante
desenvolve seu trabalho final.
Deve-se ainda destacar aqui que o processo de ensino ocorre não apenas em sala de aula no
sentido estrito, mas também em outros espaços de aprendizagem, como os grupos de pesquisa e nas
relações de orientação. Neste sentido, destacamos que a experiência da qual partimos neste artigo vincula-
se diretamente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Neste processo de
ensino e de orientação, Guedes (2004, p. 190) considera que:
Orientar a introdução de alunos de graduação ou de pós-graduação na experiência do trabalho
de campo etnográfico implica, hoje, também, em um intenso trabalho, digamos assim, de inserção
dos estudantes em uma "linhagem" (Peirano 1995). Cada novo estudante incluído no grupo deve
cumprir um programa de revisitação de questões, algumas pertencentes ao núcleo duro da
antropologia, outras bastante específicas do trabalho que cada um de nós desenvolve. Trata-se,
sem dúvida, de um trabalho pedagógico, mas também de sedução e convencimento. Esta
inserção em projetos de pesquisa é, cada vez mais, condição sine qua non para os que pretendem
investir em carreiras acadêmicas.
Nessa direção, seria possível dizer que o investimento que temos realizado no campo do ensino
também se insere na construção de uma “linhagem” antropológica que passa a repensar e questionar uma
visão estática de trabalho de campo. Para tanto os primeiros passos não poderiam ser diferentes, e nos
levam a indicar leituras consideradas relevantes para pensar a relação entre pesquisas antropológicas e o
uso de arquivos. Nessa direção, seguimos algumas das pistas iniciais apontadas por Cunha (2005, p. 9-10):
Imaginar? Mas a qual imaginação nos referimos, quando estamos diante de textos, imagens e sons
que são apenas uma parte - quem sabe residual - de uma experiência etnográfica transformada
em objeto de nossa atenção? A do etnógrafo ou a dos seus intérpretes póstumos - "caçadores de
relíquias", na provocação de Sally e Richard Price (2003)? Mais desconcertantes ainda são nossas
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 409
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
tentativas de enxergar um sujeito construído e congelado pelo texto e pela imagem produzidos
pelo etnógrafo. Um primeiro passo em direção ao enfrentamento dessas questões foi me
desvencilhar do que Fabian (1983: 167) chamou de "realismo ingênuo" ou "ilusão positivista" - a
crença em que textos e objetos históricos representam o mundo e as suas inter-relações. Num
segundo momento, tais impasses no meu contato com esses registros se transformaram numa
pergunta: afinal, para que servem, se a experiência etnográfica é sobretudo uma relação e, como
tal, uma vez limitada pelas vicissitudes do seu contexto, do presente e dos sujeitos envolvidos,
não se presta a ser reproduzida sob a forma de uma fonte de uso historiográfico?
Notadamente tais questões só passam a ganhar sentido com a própria ida a campo, com o
manuseio dos documentos, com a seleção do que é considerado relevante para a pesquisa. No nosso
caso, tais questões se vinculavam diretamente à história do ensino das ciências sociais em Santa Catarina,
cujas primeiras atividades iniciam no ensino superior apenas na década de 1950, junto aos cursos de
história, geografia e filosofia da Faculdade Catarinense de Filosofia (OLIVEIRA, 2018).
O compartilhamento de leituras, de documentos, as orientações e as discussões em grupo
constituíram os principais recursos pedagógicos acionados, com destaque para estas últimas, nas quais foi
possível comparar também as diversas pesquisas em curso, os distintos recursos metodológicos acionados
para a produção do conhecimento.
Reconhece-se assim que, apesar da centralidade que a figura do professor/orientador possa
assumir nos processos de ensino, esse processo é sempre profundamente coletivo, a aprendizagem
ocorre também entre pares, na troca, no diálogo que se estabelecem entre aqueles que desenvolvem
seus distintos projetos de pesquisa.
Desenvolvemos ainda, como parte do exercício pedagógico de aprender a produzir conhecimento
antropológico, a proposta de escrita conjunta, que envolve também um duplo movimento, de escrita do
professor e da aluna. Esta, já orientada previamente sobre o assunto a ser desenvolvido, se volta para a
escrita de uma parte específica do artigo, que é posteriormente revisado pelo orientador, o que implica
uma reescrita da estudante após essa revisão. Compreende-se que o processo de orientação e produção
de parcerias intelectuais é um dos mais centrais na produção do conhecimento antropológico, por meio
do qual a disciplina se rotiniza e se expande (VELHO, 2004).
O que se busca demonstrar com essa argumentação é que o processo de ensino de antropologia
(assim como de outras ciências) se vincula não exclusivamente ao contexto de sala de aula, articulando-se
a outros espaços de produção de conhecimento e outras atividades que não apenas a docência no sentido
estrito do termo. Neste caso específico, ensinar antropologia é também um exercício de desconstrução
da antropologia já aprendida, de percepção da pesquisa em arquivos como parte da pesquisa
antropológica.
Por fim, é também relevante indicar que a pesquisa em arquivos nos possibilita aprender como
reconstituir uma realidade etnográfica. Por meio dos relatórios de ensino, da análise dos cadernos de aula,
dos memorandos, atas etc., foi possível reconstituir recursivamente o clima intelectual e pedagógico da
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 410
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
Faculdade Catarinense de Filosofia e das primeiras experiências de ensino de antropologia em Santa
Catarina. Ou seja, aprende-se também que é possível elaborar textos etnográficos, a partir de situações
sociais que não foram vivenciadas diretamente pelo antropólogo, por meio do acesso a materiais que
constituem um relato de uma situação vivida.
Se é bem verdade que apenas os “nativos” realizam uma “leitura em primeira mão” de sua própria
cultura; o que nós antropólogos fazemos é já uma “leitura de segunda mão” (GEERTZ, 1989), isso implica
dizer o arquivo é a expressão dessa “leitura em primeira mão”, e que cabe àqueles que produzem uma
antropologia desse modo o papel de interpretar esse material e reconstituir etnograficamente as situações
e condições nas quais ele foi produzido. Ensinar tais questões é um desafio, considerando o que já fora
exposto anteriormente, sobre a necessidade de se desconstruir um determinado modo de compreender
a escrita etnográfica e o trabalho antropológico.
4 APRENDER ANTROPOLOGIA QUANDO O FAZER
ANTROPOLÓGICO NÃO É O “CLÁSSICO”
Quando estudos antropológicos se voltam para a própria disciplina, é comum a reflexão sobre
teorias e métodos, sobre sua história e até mesmo sobre o ensino da disciplina. No entanto, é também
comum a marginalização de uma dimensão importante do campo antropológico, pois são poucos os
estudos que tomam os processos de aprendizagem em antropologia como objeto de reflexão. Como
coloca Pierrot (2015, p.50), é curioso que “aqueles que afirmam que tudo se aprende e, portanto, que
nada é inato” sejam os mesmos que pouco se interessam pelos processos de aprendizagem.
Antropólogos preocupados com a autonomia da disciplina poderiam afirmar que o estudo dos
processos de aprendizagem é tarefa da psicologia, e não da antropologia (PIERROT, 2015), mas se é
consenso no campo antropológico que se aprende a cultura onde se está inserido, nos parece que o
aprender deveria constituir importante objeto de pesquisa em antropologia, especialmente o aprender a
fazer antropologia. Afinal, segundo Lave, (2015, p. 45), “a questão ‘como aprendemos algo?’ atravessa as
investigações sobre todo e qualquer aspecto da vida”, e não é diferente no que se refere à formação
antropológica.
A importância do aprender a fazer antropologia é simples: ninguém nasce antropólogo/a. Tornar-
se antropólogo/a é um processo complexo, que depende da aprendizagem das teorias e dos métodos
próprios do campo antropológico para então passar a produzir conhecimento antropológico.
Esse processo torna-se ainda mais complexo quando o campo – lócus privilegiado para se aprender
a fazer antropologia, se considerarmos o aprender como uma prática e que se aprende na prática (LAVE,
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 411
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
2015) – onde se está inserido/a e aprendendo sobre o fazer antropológico difere do campo do fazer
antropológico “clássico”1. Esse é o caso de pesquisas antropológicas que tomam arquivos como campo de
pesquisa, condição na qual os sujeitos e grupos que se estuda “falam” por meio de documentos e,
geralmente, não é possível o contato, o encontro, a troca com o outro em pessoa.
Aprender a fazer uma antropologia dos arquivos coloca-se como um processo ainda mais
complexo que aprender o fazer antropológico “clássico” porque, ao menos desde Malinowski, esse
contato com o outro, o encontro e a troca, por meio da ida ao campo, passaram a ser pensados como
elementos constitutivos da produção do conhecimento antropológico. Por consequência, é esse fazer
antropológico “clássico” que é mais amplamente ensinado e aprendido nos cursos de antropologia2.
Nesse sentido, a concepção de antropologia que predomina nos currículos acadêmicos e nas
pesquisas antropológicas é essa firmada em um trabalho de campo que se relaciona com o humano (no
sentido mais estrito do termo) e com o tempo presente; de modo que trabalhar antropologicamente com
arquivos, com documentações de tempos passados, torna-se um desafio – principalmente para quem está
em processo de formação, ou seja, aprendendo a fazer antropologia.
De fato, há um esforço, por parte de antropólogos e antropólogas, em produzir estudos para
delinear uma chamada etnografia ou antropologia dos arquivos3 e oferecer pistas de como pode ser
realizado o trabalho antropológico quando se toma arquivos como campo de pesquisa. Nosso argumento
central aqui é que essas produções não estão inseridas nos currículos dos cursos de antropologia, o que
exige dos e das estudantes interessados/as em tal discussão certa autonomia nos estudos para entrarem
em contato com a mesma.
Parece-nos que são pontuais as ocasiões em que documentos são abordados como objeto de
pesquisa antropológica e, geralmente, essa abordagem está relacionada à história da disciplina; quando se
retomam seus primórdios, fazendo referência à chamada “antropologia de gabinete”. Com isso, um
estereótipo sobre o trabalho antropológico documental é produzido, tomando como referência o modo
de trabalho da antropologia de gabinete. Resulta disso uma hierarquização entre os fazeres antropológicos,
em que o trabalho de campo “clássico” é mais valorizado que o arquivístico.
1
Utilizamos aqui a noção “clássico” para nos referir ao cânone da tradição antropológica, ao fazer antropológico que advém das
produções de autores consagrados no campo antropológico, como Malinowski, Lévi-Strauss, Evans Pritchard, Clifford Geertz,
Franz Boas, Marcel Mauss, Radcliffe-Brown, entre outros.
2
Apesar do reconhecimento de que “precisamos saber mais sobre como se dá o processo de transmissão de nossa disciplina,
nos cursos de graduação e pós-graduação” (CORREA, 2006, p. 109), ainda são incipientes as pesquisas empíricas sobre esse
tema (VEGA SANABRIA, 2015). De qualquer forma, para uma análise mais concisa sobre o que se ensina (conteúdos e autores)
em cursos de antropologia vide Sartori (2015) e Vega Sanabria (2015).
3
Vide Costa, 2010; Cunha, 2004; 2005; Magalhães, 2018; e Souza, 2017.
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 412
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
Por isso, julgamos importante destacar que uma antropologia dos arquivos se distancia
consideravelmente da antropologia de gabinete. Primeiramente porque, segundo Oliveira e Iabel Barbosa
(2018, p. 42):
(...) enquanto a antropologia de gabinete se voltou para documentos produzidos sobre certos
grupos sociais e os concebeu enquanto dados inquestionáveis, a antropologia dos arquivos volta-
se para documentos produzidos por grupos sociais de forma crítica, a fim de problematizá-los (...)
(grifos dos autores).
Além disso, diversamente do que fazia a antropóloga de gabinete, uma antropologia dos arquivos
não “destaca” do contexto os documentos que analisa. Pelo contrário; seu objetivo é tomá-los enquanto
objeto de estudo, considerando sua condição de produto cultural de um determinado grupo social e de
uma época específica. Dessa forma, segundo Cunha (2005, p. 8), “não só a natureza do que os usuários
dos arquivos chamam de ‘documento’, mas também os contextos de sua produção e os invólucros
institucionais que os protegem, preservam e autorizam” constituem questões-chave para uma antropologia
dos arquivos.
Deparamo-nos com as questões apresentadas até aqui, a partir das condições objetivas de uma
pesquisa que estamos realizando acerca da história das Ciências Sociais em Santa Catarina. A questão da
importância de atentarmos para os processos de aprendizagem no campo antropológico ou, mais
especificamente, para o exercício de aprender a fazer antropologia, está diretamente relacionada ao fato
de que uma das pessoas envolvidas na pesquisa é estudante de graduação em Ciências Sociais e bolsista
do Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). A questão da pouca atenção que se tem
direcionado nos cursos de antropologia a fazeres antropológicos outros que não o “clássico” e a questão
das especificidades de uma antropologia dos arquivos, em diferenciação à chamada “antropologia de
gabinete”, tem a ver com o esforço intelectual e metodológico que implica essa estudante à realização de
uma pesquisa de caráter histórico e documental, a partir de uma abordagem antropológica, já que a ida ao
campo, nesse caso, não corresponde àquela do fazer antropológico “clássico” ensinado nos cursos de
antropologia.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este breve artigo buscou suscitar algumas questões que compreendemos como fundamentais para
a discussão contemporânea sobre o ensino de antropologia, cuja relevância encontra-se no próprio
exercício proposto de repensar os fundamentos dessa ciência. Se por um lado podemos concordar com
a assertiva de que não é possível ensinar a alguém como fazer uma etnografia, como ter “Anthropological
Blues”, isso não é o mesmo que se afirmar que não é possível debater os fundamentos do trabalho
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 413
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
etnográfico, e ensinar questões básicas que possibilitam àquele que está trilhando o caminho da
antropologia a dar seus primeiros passos.
A divisão proposital desse artigo reflete a dupla condição dos autores desse trabalho, de professor
e de aluna que refletem sobre os processos de ensino e aprendizagem de uma disciplina, a partir da prática
da pesquisa, assim como dos processos de orientação. A reflexão aqui trazida, nesse sentido, destaca os
processos de ensino e aprendizagem na universidade como processos coletivos, que envolvem não apenas
a relação professor-aluno, mas também outros espaços de sociabilidades e construção do conhecimento.
Pensando em termos mais específicos do ensino e da aprendizagem da antropologia, o presente
trabalho possibilitou uma reflexão sobre os desafios de se pensar esses processos com relação à
antropologia de arquivos, que demanda um processo de desconstrução do que aprendemos sobre
produzir conhecimento antropológico. Ensinar e aprender novas formas de se produzir antropologia
implicou também a problematização dos fundamentos canônicos dessa ciência: questionar em que medida
o fazer etnográfico no modo que Malinowski nos apresentou na primeira metade do século XX
representa, de fato, a única forma possível de se pensar essa ciência.
As leituras, as orientações, as discussões em grupo, os exercícios de escrita, todos esses são
elementos fundamentais no processo de ensino e de aprendizagem da antropologia, o que contradiz,
amiúde, com o que lecionado nas aulas de teoria antropológica. Nessa direção, todo processo de
aprendizagem implica também um questionamento sobre o que fora aprendido anteriormente, de tal
modo que aprender não é apenas um exercício acumulativo, como também contraditório e plural.
REFERÊNCIAS
CLIFFORD, J. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2002.
COSTA, M. C. C. Etnografia de arquivos – entre o passado e o presente. Matrizes, v. 3, n. 2, p. 171-
186, 2010.
CORREA, M. Damas & cavalheiros de fina estampa, dragões & dinossauros, heróis & vilões”. In:
GROSSI, M. et al. (orgs.). Ensino de antropologia no Brasil: formação, práticas disciplinares e além-
fronteiras. Blumenau: Nova Letra, pp. 105-110, 2006.
CUNHA, O. M. G. da. Do ponto de vista de quem? Diálogos, olhares e etnografias dos/nos arquivos.
Estudos Históricos, n. 36, p. 7-32, 2005.
CUNHA, O. M. G. da. Tempo imperfeito: uma etnografia do arquivo. MANA, v. 10, n. 2, p. 287-322,
2004.
DAMATTA, R. O ofício de etnólogo, ou como ter Anthropological Blues. Boletim do Museu Nacional.
S/v, n 27, p. 1-12.
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 414
Aprender e ensinar a fazer uma antropologia dos arquivos
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LCT, 1989.
GEERTZ, C. Vidas e obras: o antropólogo como autor. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009.
GUEDES, S. L. Produzir antropólogos: algumas reflexões. Ilha – Revista de Antropologia, v. 6, n. 1,2, p.
185-196, 2004.
INGOLD, T. Chega de etnografia! A educação da atenção como propósito da antropologia. Educação
(PUC RS), v. 39, n. 3, p. 404-411,2016.
LAVE, J. Aprendizagem como/na prática. Horizontes Antropológicos, n. 44, p. 37-47, 2015.
MAGALHÃES, E. dos S. “Acossados por toda parte como brutos selvagens”: os índios da cachorra morta
na província do Ceará. Acervo - Revista do Arquivo Nacional, v. 31, n. 1, p. 15-32, 2018.
MORAES, A. C. Licenciatura em ciências sociais e ensino de sociologia: entre o balanço e o relato.
Tempo Social, v. 15, n. 1, p. 05-20, 2003.
OLIVEIRA, A. O ensino de ciências sociais na Faculdade Catarinense de Filosofia. Ciências Sociais
UNISINOS, v. 54, n. 1, p. 117-125, 2018.
OLIVEIRA, A. Um Balanço da Discussão sobre Ensino na Associação Brasileira de Antropologia.
Cadernos da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais (CABECS), v. 1, n. 1, p. 80-91.
OLIVEIRA, A.; IABEL BARBOSA, Inaê. Oswaldo Rodrigues Cabral e a formação da antropologia em
Santa Catarina. Áltera – Revista de Antropologia, v. 1, n. 6, p. 37-54, 2018.
PIERROT, A. Aprendizagem e representação. Os antropólogos e as aprendizagens. Horizontes
Antropológicos, n. 44, p. 49-80, 2015.
SARTORI, A. O ensino da Antropologia nos cursos de licenciatura e bacharelado: "o que" ensinam e
"como" ensinam. Revista Café com Sociologia, vol .4, n. 2, 2015.
SOUZA, C. V. e. Arquivos de pessoas e instituições em movimento: reflexões a partir de pesquisas com
antropólogos no Brasil. Acervo – Revista do Arquivo Nacional, v. 30, n. 2, p. 192-205, 2017.
VEGA SANABRIA, G. A Antropologia Historicizada Ou Os Índios De Fenimore Cooper: Clássicos E
História No Ensino De Antropologia No Brasil. Mana, v. 21, n. 3, pp. 609-639, 2015.
VELHO, O. Orientação e parceria intelectual: dilemas e perspectivas. Ilha – Revista de Antropologia, v.
6, n. 1,2, p. 135-143, 2004.
Debates em Educação | Maceió | Vol. 11 | Nº. 23 | Jan./Abr. | 2019 415
Você também pode gostar
- Valter NevesDocumento105 páginasValter NevessergioAinda não há avaliações
- A Arquitectura de Pedro Paulo de Melo Saraiva-1954-1975Documento210 páginasA Arquitectura de Pedro Paulo de Melo Saraiva-1954-1975Jair Marquez SotoAinda não há avaliações
- Funari, P. P. - Cultura Material e Arqueologia Histórica PDFDocumento5 páginasFunari, P. P. - Cultura Material e Arqueologia Histórica PDFJohni Cesar Dos SantosAinda não há avaliações
- Pensadores sociais e história da educação - Vol. 2No EverandPensadores sociais e história da educação - Vol. 2Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Sistemas Térmicos e Fluidomecânicos - LIVRO ÚNICODocumento118 páginasSistemas Térmicos e Fluidomecânicos - LIVRO ÚNICOFabio RicardoAinda não há avaliações
- 15 Manual de Carpintaria PDFDocumento89 páginas15 Manual de Carpintaria PDFarthur santos75% (4)
- 12.CampoaEscrita NagamiDocumento10 páginas12.CampoaEscrita NagamiInocêncio pascoalAinda não há avaliações
- A Etnografia e o Seu Alcance Pratico NoDocumento8 páginasA Etnografia e o Seu Alcance Pratico NoJoao PereiraAinda não há avaliações
- PEIRANO, Mariza. Etnografia, Ou A Teoria VividaDocumento12 páginasPEIRANO, Mariza. Etnografia, Ou A Teoria VividaMaria LimaAinda não há avaliações
- BARBOSA, R. Perspectivas e Tradições Do Fazer EtnográficoDocumento30 páginasBARBOSA, R. Perspectivas e Tradições Do Fazer EtnográficoLeandro Sant.Ainda não há avaliações
- 2018 ARTIGO ETNOCIÊNCIA Pesovento PDFDocumento16 páginas2018 ARTIGO ETNOCIÊNCIA Pesovento PDFprofessoracarmaAinda não há avaliações
- Por Que Etnografia No Sentido Estrito e Não Estudos Do Tipo Etnográfico em Educação PDFDocumento13 páginasPor Que Etnografia No Sentido Estrito e Não Estudos Do Tipo Etnográfico em Educação PDFYuri De Nóbrega SalesAinda não há avaliações
- Candice Vidal e Souza - Arquivos de Pessoas e Instituições em Movimento#Documento14 páginasCandice Vidal e Souza - Arquivos de Pessoas e Instituições em Movimento#Diego Omar SilveiraAinda não há avaliações
- Textos e Escritos - Tema - 1 - v02 PDFDocumento71 páginasTextos e Escritos - Tema - 1 - v02 PDFMarta IrinaAinda não há avaliações
- As Relacoes Entre A Antropologia e Os ArDocumento31 páginasAs Relacoes Entre A Antropologia e Os ArFlavianaAinda não há avaliações
- PONTO URBE - Revista Do Núcleo de Antropologia Urbana Da USPDocumento10 páginasPONTO URBE - Revista Do Núcleo de Antropologia Urbana Da USPAlisson MachadoAinda não há avaliações
- Etnografia, Etnologia e Teoria Antropológica PDFDocumento15 páginasEtnografia, Etnologia e Teoria Antropológica PDFGleidson VieiraAinda não há avaliações
- Síntese A Antropologia No Brasil: Um RoteiroDocumento2 páginasSíntese A Antropologia No Brasil: Um RoteiroAndreson OliverAinda não há avaliações
- Arqueologia para Etnólogos - Colaborações Entre Arqueologia e Antropologia Na AmazôniaDocumento36 páginasArqueologia para Etnólogos - Colaborações Entre Arqueologia e Antropologia Na AmazôniaRian MenesesAinda não há avaliações
- Rossano Lopes Bastos - Arqueologia No Brasil. Atualizando o DebateDocumento4 páginasRossano Lopes Bastos - Arqueologia No Brasil. Atualizando o DebateFelipe Berocan VeigaAinda não há avaliações
- Etnografia Ou A Teoria VividaDocumento10 páginasEtnografia Ou A Teoria VividaMaria Rita RodriguesAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Antropologia Cultural 2023.02Documento9 páginasPlano de Ensino - Antropologia Cultural 2023.02larissa.asilvaAinda não há avaliações
- A FAVOR DA ETNOGRAFIA - PDF Free Download - 1605650727386Documento37 páginasA FAVOR DA ETNOGRAFIA - PDF Free Download - 1605650727386Aparicio NhacoleAinda não há avaliações
- Historia Oral e Arqueologia PossibilidadDocumento7 páginasHistoria Oral e Arqueologia Possibilidadgtametal100% (1)
- Arquivo Preservação MemóriaDocumento13 páginasArquivo Preservação MemóriaJoana D'ArcAinda não há avaliações
- Nota Editorial TemáticaDocumento6 páginasNota Editorial TemáticaRosana MedeirosAinda não há avaliações
- URIARTE O Que É Fazer Etnografia para Os AntropólogosDocumento12 páginasURIARTE O Que É Fazer Etnografia para Os AntropólogosGian LuccaAinda não há avaliações
- Trabalho de Campo Etnografia Multisituada (Salvo Automaticamente)Documento3 páginasTrabalho de Campo Etnografia Multisituada (Salvo Automaticamente)Julia Do CarmoAinda não há avaliações
- A Antropologia Etnográfica No Ensino Médio: Uma Análise Sobre As Experiências Do Professor e Do AlunoDocumento9 páginasA Antropologia Etnográfica No Ensino Médio: Uma Análise Sobre As Experiências Do Professor e Do AlunoJúlia DiasAinda não há avaliações
- Etnografia PDFDocumento7 páginasEtnografia PDFNoemi MarxAinda não há avaliações
- 109365-Texto Do Artigo-196176-1-10-20160112Documento3 páginas109365-Texto Do Artigo-196176-1-10-20160112Jonas RibeiroAinda não há avaliações
- Antropologia e Pedagogia em Franz BoasDocumento28 páginasAntropologia e Pedagogia em Franz BoasTássio FariasAinda não há avaliações
- Hilario Ribeiro e Sua Produção DidaticaDocumento15 páginasHilario Ribeiro e Sua Produção DidaticaLuanilizAinda não há avaliações
- Barbosa Artigo Socurbs v1 n3Documento22 páginasBarbosa Artigo Socurbs v1 n3Raon BorgesAinda não há avaliações
- Klaus Hilbert Estudos de Cultura MaterialDocumento12 páginasKlaus Hilbert Estudos de Cultura Materialcaldadearroz caldasAinda não há avaliações
- ARTIGO - Quem Tem Medo de Etnografia - Amurabi OLIVEIRA - Felipe BOIN - Beatriz BuRIGO - Revista Contemporanea de EducacaoDocumento21 páginasARTIGO - Quem Tem Medo de Etnografia - Amurabi OLIVEIRA - Felipe BOIN - Beatriz BuRIGO - Revista Contemporanea de EducacaoAlex SousaAinda não há avaliações
- Campo de Investigação Da Antropologia - ANT 1Documento2 páginasCampo de Investigação Da Antropologia - ANT 1Graça ParedesAinda não há avaliações
- Cronograma Antropologia Cultural - AtualizadoDocumento7 páginasCronograma Antropologia Cultural - Atualizadolarissa.asilvaAinda não há avaliações
- Ensaio FinalDocumento9 páginasEnsaio FinalAmanda de SouzaAinda não há avaliações
- Antropologia Como Ciencia Social No Brasil PDFDocumento14 páginasAntropologia Como Ciencia Social No Brasil PDFDeniseJardimAinda não há avaliações
- Etnografia, Cultura Escolares e Antrop Critica - Eliana MonteiroDocumento16 páginasEtnografia, Cultura Escolares e Antrop Critica - Eliana MonteiroMariana MartinezAinda não há avaliações
- Tema 1 O Método A Escrita e A ReflexibilidadeDocumento3 páginasTema 1 O Método A Escrita e A Reflexibilidadepaula cristina100% (2)
- A Dádiva Indígena e A Dívida AntropológicaDocumento20 páginasA Dádiva Indígena e A Dívida AntropológicaarquipelagoAinda não há avaliações
- Etnografía de Un Artefacto Plumario (Dorta 1981)Documento138 páginasEtnografía de Un Artefacto Plumario (Dorta 1981)Javier CazalAinda não há avaliações
- Relativismo Na AntropologiaDocumento3 páginasRelativismo Na Antropologiaanacaroline051100Ainda não há avaliações
- Peirano, A Antropologia Como Ciencia Social No Brasil Aula 12Documento15 páginasPeirano, A Antropologia Como Ciencia Social No Brasil Aula 12kamy07alwaysAinda não há avaliações
- A Antropologia Através Da EtnografiaDocumento5 páginasA Antropologia Através Da EtnografiaMaria AntoniaAinda não há avaliações
- 2601-Texto Do Artigo-9400-1-10-20211017Documento15 páginas2601-Texto Do Artigo-9400-1-10-20211017Marcelo EffigenAinda não há avaliações
- RBA - Exercícios Etnográficos - Uma Descrição Etnográfica de Um Trajetória Disciplinar em Um Programa de Mestrado em AntropologiaDocumento19 páginasRBA - Exercícios Etnográficos - Uma Descrição Etnográfica de Um Trajetória Disciplinar em Um Programa de Mestrado em AntropologiaEl Ultimo Cartucho CortometrajeAinda não há avaliações
- Memória Nagô: Vicente Mariano e o Terreiro Senhor Do Bonfim Ilê Oxum Ajamin.Documento20 páginasMemória Nagô: Vicente Mariano e o Terreiro Senhor Do Bonfim Ilê Oxum Ajamin.Paulo VictorAinda não há avaliações
- Etnografia Da Obra Os Tapajó de Curt NimuendajúDocumento16 páginasEtnografia Da Obra Os Tapajó de Curt NimuendajúMoara TupinambáAinda não há avaliações
- John BlackingDocumento30 páginasJohn BlackingMaria LimaAinda não há avaliações
- 2021 Argonautas Cem Anos DepoisDocumento25 páginas2021 Argonautas Cem Anos Depoisizaltinon_1Ainda não há avaliações
- Do Ponto de Vista de QuemDocumento26 páginasDo Ponto de Vista de QuemFlavianaAinda não há avaliações
- Textos Tema2 19 20Documento171 páginasTextos Tema2 19 20Direcao AzoiaAinda não há avaliações
- 179116-Texto Do Artigo-578185-1-10-20220913Documento16 páginas179116-Texto Do Artigo-578185-1-10-20220913Pedro HenriqueAinda não há avaliações
- Teoria da História e História da Historiografia Brasileira dos séculos XIX e XX: EnsaiosNo EverandTeoria da História e História da Historiografia Brasileira dos séculos XIX e XX: EnsaiosAinda não há avaliações
- Itinerários investigativos: Histórias das ideias linguísticas: apropriação e representaçãoNo EverandItinerários investigativos: Histórias das ideias linguísticas: apropriação e representaçãoAinda não há avaliações
- Experiência de ensino de história no estágio supervisionado (V. 4)No EverandExperiência de ensino de história no estágio supervisionado (V. 4)Ainda não há avaliações
- Amazonas Faz Ciência Revista N. 15 - Janeiro A Março de 2010Documento52 páginasAmazonas Faz Ciência Revista N. 15 - Janeiro A Março de 2010Diego Omar SilveiraAinda não há avaliações
- Amazonas Faz Ciência Revista N. 16 - Abril A Junho de 2010Documento52 páginasAmazonas Faz Ciência Revista N. 16 - Abril A Junho de 2010Diego Omar SilveiraAinda não há avaliações
- Amazonas Faz Ciência Revista N. 17 - Julho A Setembro de 2010Documento60 páginasAmazonas Faz Ciência Revista N. 17 - Julho A Setembro de 2010Diego Omar SilveiraAinda não há avaliações
- Dos Medicamentos Aos Índios GenéricosDocumento7 páginasDos Medicamentos Aos Índios GenéricosDiego Omar SilveiraAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Histórico Do Cimi - Parte IIIDocumento15 páginasDesenvolvimento Histórico Do Cimi - Parte IIIDiego Omar SilveiraAinda não há avaliações
- Dados Históricos Do Nascimento Do Cimi - Parte II (1975)Documento12 páginasDados Históricos Do Nascimento Do Cimi - Parte II (1975)Diego Omar Silveira100% (1)
- A Ação Do CimiDocumento10 páginasA Ação Do CimiDiego Omar SilveiraAinda não há avaliações
- 7.1-CTPS CarlosDocumento4 páginas7.1-CTPS CarlosMarcos BertoldoAinda não há avaliações
- Curso Basico DepilacaoDocumento23 páginasCurso Basico DepilacaoJulissa Mello100% (1)
- Curso 228543 Aula 05 D89a CompletoDocumento127 páginasCurso 228543 Aula 05 D89a CompletoSterphane VitóriaAinda não há avaliações
- AULA 00 - BiossegurançaDocumento54 páginasAULA 00 - BiossegurançaAntonio3940Ainda não há avaliações
- Contabilidade - Nível 4Documento187 páginasContabilidade - Nível 4carolinaAinda não há avaliações
- 9-NORMALIZAÇÃO - ImobiliáriaDocumento2 páginas9-NORMALIZAÇÃO - ImobiliáriaBruna CoelhoAinda não há avaliações
- Portaria IPHAN Nº 135 - 20.nov.2023 - DOUDocumento10 páginasPortaria IPHAN Nº 135 - 20.nov.2023 - DOUJuscelino Alves de OliveiraAinda não há avaliações
- Ação de CobrançaDocumento4 páginasAção de CobrançaFlávia FurlanAinda não há avaliações
- Determinação Organoclorado em AlimentoDocumento7 páginasDeterminação Organoclorado em AlimentoLetícia MenezesAinda não há avaliações
- Blue and Grey Illustrative Creative Mind MapDocumento1 páginaBlue and Grey Illustrative Creative Mind MapMaria BeatrizAinda não há avaliações
- Apostila Masterclass Liberte Se Do CiumeDocumento41 páginasApostila Masterclass Liberte Se Do CiumeAdriele Oliveira100% (1)
- Manual FujitsuDocumento36 páginasManual FujitsuMiguel OliveiraAinda não há avaliações
- Lista de Exercicio MortalidadeDocumento2 páginasLista de Exercicio Mortalidadelolorre77Ainda não há avaliações
- Cidades Hostis - Lucia Leitão - A Terra É RedondaDocumento10 páginasCidades Hostis - Lucia Leitão - A Terra É RedondaPaulo SoaresAinda não há avaliações
- WN© - Medicina Legal Esquematizado - Todos BimestresDocumento18 páginasWN© - Medicina Legal Esquematizado - Todos BimestresGiovanni MonteiroAinda não há avaliações
- Apresentação TDM J.CarvalhoDocumento63 páginasApresentação TDM J.CarvalhoElidio MunliaAinda não há avaliações
- Pilar-Parede IE Novembro 2006Documento27 páginasPilar-Parede IE Novembro 2006civ08145Ainda não há avaliações
- Agora Sim A Introdução de VerdadeDocumento2 páginasAgora Sim A Introdução de VerdadefrifastesteAinda não há avaliações
- JAROUCHE - Mamede04. O Prólogo-Moldura Das Mil e Uma Noites No Ramo Egípcio AntigoDocumento48 páginasJAROUCHE - Mamede04. O Prólogo-Moldura Das Mil e Uma Noites No Ramo Egípcio AntigoLuan BoniniAinda não há avaliações
- Penguard TopcoatDocumento5 páginasPenguard TopcoatDatabook GaleaoAinda não há avaliações
- Geografia 5° AnoDocumento3 páginasGeografia 5° AnoMaely PethOvick75% (4)
- Artigo Nelson ChapanangaDocumento34 páginasArtigo Nelson ChapanangaCadjosse LtaAinda não há avaliações
- A Sombra Do AbismoDocumento21 páginasA Sombra Do Abismomarketing.robsonAinda não há avaliações
- Terapia Ocupacional DiabetesDocumento11 páginasTerapia Ocupacional DiabetesCatalina RiensAinda não há avaliações
- FOLHETO MINEIRAO ITAREPUNA 24.10 A 30.10-1Documento2 páginasFOLHETO MINEIRAO ITAREPUNA 24.10 A 30.10-1Charles DouglasAinda não há avaliações
- Termo de AutorizaçãoDocumento2 páginasTermo de AutorizaçãoNOE PINTOAinda não há avaliações
- Witness Lee 2 Corintios PDFDocumento40 páginasWitness Lee 2 Corintios PDFLevi Abraão RodriguesAinda não há avaliações