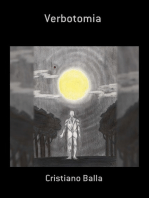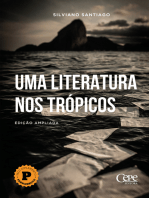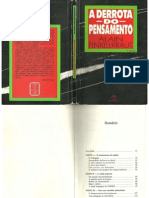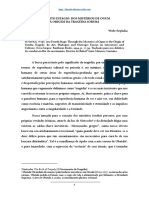Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2015 Sppa Revistadepsicanalise v22 n1 9
Enviado por
Fábio Yutani KosekiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
2015 Sppa Revistadepsicanalise v22 n1 9
Enviado por
Fábio Yutani KosekiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
O luto, a melancolia e o trágico em A
terceira margem do rio, de Guimarães
Rosa
Adriano Barros*, São Paulo
O presente artigo tem como objetivo analisar o conto A terceira margem
do rio, de João Guimarães Rosa, sobre dois pontos relevantes que se
cruzam. O primeiro é o luto e a melancolia; o segundo ponto a ser tratado
é o trágico. Utilizaremos como base teórica o conceito de trágico
nietzschiano e como ele se manifesta no conto, tendo em vista, em sua
constituição, duas pulsões opostas, a de Apolo e a de Dionísio. Já para
nos ancorarmos na análise do luto e melancolia, usaremos o artigo Luto e
melancolia, de Sigmund Freud. Não perderemos, porém, de vista que o
conto possibilita diversas interpretações; tratando-se de um texto
enigmático, como obra aberta que é, permite-nos múltiplas possibilidades
de leitura.
Palavras-chaves: Freud, Nietzsche, João Guimarães Rosa, melancolia,
trágico.
* Pós-graduado em Filosofia Contemporânea e História, no programa de pós-graduação da
Universidade Metodista de São Paulo. Membro do Centro de Estudos Hannah Arendt em parceria
com o Instituto Norberto Bobbio em SP.
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 141
Adriano Barros
“Nos mesmos rios entramos e não
entramos, somos e não somos” Heráclito
(Frag. 49a, [c1996], p. 92).
Melancolia: um conceito na fronteira entre doença e cultura. Da
antiguidade clássica ao mundo moderno
Desde a antiguidade a melancolia é objeto de estudo da filosofia, e um dos
grandes filósofos gregos já se perguntava por que “razão todos os que foram
homens de exceção, no que concerne à filosofia, à ciência do Estado, à poesia ou
às artes, são manifestamente melancólicos” (Aristóteles, [c1998], p. 81). Para o
filósofo era claro que toda pessoa que tinha um grande espírito, que se destacava
como um grande poeta, um grande estadista, um grande filósofo, o temperamento
melancólico era sua condição primordial.
Aristóteles nos conta, em seu texto O problema XXX, que o homem nesse
estado melancólico está tomado pelos males da bílis negra ( ) e que
nessa bile negra, na natureza, espontaneamente, há uma mistura de humores1.
Com efeito, esta mistura se dá entre o quente e o frio, “porque a natureza é feita
destes componentes” (Aristóteles, [c1998], p. 91). E completa o autor:
[...] aqueles nos quais essa mistura se encontra abundante e fria são presas
do torpor e da idiotia; aqueles que a têm abundante e quente são ameaçados
pela loucura (manikoi) e dotados por natureza, inclinados ao amor,
facilmente levados aos impulsos e aos desejos; alguns também são mais
falantes que o comum. Mas muitos, pela razão do pensamento, são tomados
pela doença da loucura ou do entusiasmo. O que explica as Sibilas, os
Bakis, e todos os que são inspirados, quando eles assim se tornam não por
doença, mas por mistura de sua natureza. E Marcacus, o Siracusiano, era
ainda melhor poeta nos seus acessos de loucura. Mas esses nos quais o
calor excessivo se detém, no seu impulso, em um estado médio, são
certamente melancólicos, mas são mais sensatos, e se são menos bizarros,
em compensação, em muitos domínios, são superiores aos outros, uns no
que concerne à cultura, outros às artes, outros ainda à gestão da cidade.
(Aristóteles, [c1998], p. 95).
1
“Há quatro humores no corpo humano: sangue, cólera, fleuma, melancolia. Terra melancolia,
água fleuma, ar sangue, cólera fogo” (Agamben, 2007, p. 37).
142 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
Por conseguinte, o filósofo acrescenta que, em outras pessoas, a “natureza
manifestamente é inclinada” à melancolia. Para tal, ele nos dá um exemplo:
O vinho, com efeito, tomado em abundância, parece deixar as pessoas
totalmente da maneira como descrevemos os melancólicos, e sua absorção
produzir um muito grande número de caráteres, por exemplo, os coléricos,
os filantropos, os apiedados, os audaciosos. [...] pode-se ver que o vinho
transforma os indivíduos de diferentes maneiras, se se observa como ele
muda gradualmente aqueles que o bebem. Porque, se ele se apossa de
pessoas que são, quando se abstêm de vinho, frios e silenciosos, bebido em
uma não muito grande quantidade, ele os faz mais falantes; um pouco mais
e ei-los eloquentes e confiantes, se eles continuam, ei-los ousados a
empreender; ainda um pouco mais de vinho absorvido os deixa violentos,
depois loucos; e uma extrema abundância os desfaz, deixando-os
idiotizados, como os que são epiléticos desde a infância, ou ainda os
personagens afetados pela doença da bile negra no último nível (Aristóteles,
[c1998], p. 83-85).
Vejam que Aristóteles aponta que as pessoas que utilizam o vinho em
determinada dosagem podem portar-se de maneiras diferentes: um falante, um
agitado, um próximo das lágrimas. Nos versos da Odisseia de Homero, em que
Ulisses, disfarçado de estrangeiro, responde as perguntas de Penélope: “[...] não
vá alguma das tuas servas censurar-me, ou tu própria, / dizendo que estou alagado
em lágrimas por causa do vinho” (Homero, [c2003], p. 310 – Canto XIX, verso
122). Ou seja, o vinho cria a exceção do indivíduo não por muito tempo, por um
curto momento, enquanto que a natureza produz esse efeito para sempre, por todo
o tempo em que se vive, “por isso que o vinho e a mistura (da bílis negra) são de
natureza semelhante”. E conclui o filósofo: “A mistura da bílis negra, da mesma
maneira que na doença torna as pessoas inconstantes, da mesma maneira é, em si
mesma, inconstante. Porque ora um é frio como a água, ora é quente.” (Aristóteles,
[c1998], p. 89).
Giorgio Agamben (1979), em seu livro intitulado Estâncias, aponta que,
na tradição medieval, a melancolia ou bílis negra ( ) era um estado
de desordem que podia causar as consequências mais nefastas; aparece
tradicionalmente ligada “à terra, à cor preta, à velhice (ou maturidade) e o seu
planeta é Saturno, entre cujos filhos o melancólico encontra lugar ao lado do
enforcado, do coxo, do camponês, do jogador de azar, do religioso e do porqueiro.”
(p. 33). O autor aponta o melancólico sob uma luz sinistra, esse seria um pexime
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 143
Adriano Barros
complexionatus, triste, invejoso, mau, ávido, fraudulento, temeroso e terroso.
Porém aponta também a concepção aristotélica de melancolia, que consiste “num
processo dialético no transcurso do qual a doutrina do gênio se costura
indissoluvelmente com a do humor melancólico na fascinação de um conjunto
simbólico” (Idem, p. 34).
Agamben ainda acrescenta que essa polaridade da bílis negra e a sua
vinculação com a platônica mania divina foram reunidas sob a égide de Marsílio
Ficino, cujo pensamento era reconhecido à sombra do signo de Saturno, cuja
tradição astrológica associava ao temperamento melancólico como “o planeta
mais maligno, na intuição de uma polaridade dos extremos em que coexistiam,
uma ao lado da outra, a ruinosa experiência da opacidade e a estática ascensão
para a contemplação divina” (Idem, p. 36). Nessa perspectiva, percebe-se que a
influência da terra, como elemento ligado diretamente a Saturno, confere ao
melancólico uma propensão fortemente natural ao recolhimento interior e ao
conhecimento contemplativo. Nessa perspectiva acrescentamos que, durante a
Idade Média, os padres dão nomes para uma certa doença espiritual que assolava
os palácios, os mosteiros, as vilas e que deixava suas vítimas como se estivessem
mortas: acedia, tristitia, taedium vitae, desídia2. Estes eram os termos denominados
pelos padres de demônio do meio-dia3; sob o sol as vítimas elegidas sofreriam,
sem poder sair desse estado de inércia, de preguiça corporal e espiritual:
2
“Na mais antiga tradição patrística, os pecados capitais não são sete, mas oito. Na lista de
Cassiano, são os seguintes: Gastrimargia ‘gula’, Fornicatio ‘luxúria’, Philargyria ‘avareza’, Ira, Tristitia,
Acedia, Cenodoxia ‘vanglória’, Superbia. Na tradição ocidental, a partir de São Gregorio, a tristitia
funde-se com a acedia, e os sete pecados assumem a ordem que se encontra nas ilustrações
populares e nas representações alegóricas do fim da Idade Média e que se tornou familiar para nós
através dos afrescos de Giotto em Pádua, da tela circular de Bosch no Museu do Prado ou das
gravações de Brueghel. Quando, no texto, se fala de acídia, sempre há referência ao conjunto
resultante dessa fusão, que mais precisamente deveria denominar-se tristitia-acedia” (Agamben,
2007, p. 21).
3
“Maxime circa horam sextam monachum inquietans... Denique nonnulli senum hunc esse
pronuntiant meridianum daemonem, qui in psalmo nonagésimo nuncupatur” [“Precisamente perto
do meio-dia o monge se inquieta... Assim, alguns mais idosos anunciam o demônio meridiano, que
é citado no salmo noventa”]. (Joannis Cassiani. De institutis comobiorum, I, X, cap. I, em: Patrología
latina, 49). De modo semelhante João Clímaco (Scala Paradisi, gr. XIII, em: Patrologia graeca, 88)
escreve: “mane primum languentes medicus visitat, acedia vero monachos circa meridiem” [“de
manhã, o médico visita os mais débeis, a acídia realmente só visita os monges por volta do meio-
dia”]. Não é, pois, casual que, na gravura de Brueghel que representa a acídia, na parte do alto, à
esquerda, apareça um enorme quadrante sobre o qual, em lugar de ponteiros, uma mão indica
‘circa meridiem’. Sobre o demônio meridiano, veja-se também o que Leopardi escreve no seu Saggio
sopra gli errori popolari degli antichi, cap. VII. A referência ao ‘salmo noventa’ em Cassiano está,
para ser preciso, no v.6, e o termo hebraico correspondente é Keteb. Segundo Rohde, o demônio
meridiano dos autores cristãos é simplesmente uma reencarnação de Empusa, uma das figuras de
ogra do séquito espectral de Hécate, que aparece precisamente ao meio-dia (cf. E. Rohde. Psyche
Freiburg in Breisgau, 1890-94, trad. It. Bari, 1970, apêndice II)” (Agamben, 2007, p. 22).
144 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
o olhar do acidioso pousa obsessivamente sobre a janela e, com a fantasia,
finge ser a imagem de alguém que vem visitá-lo; ao rangido da porta, ergue-
se em pé; ouve uma voz, e corre para pôr-se à janela para olhar; contudo
não desce para a estrada, mas volta a sentar-se onde estava antes, entorpecido
e quase empalidecido. Lê, interrompe-se inquieto e, um minuto depois, cai
no sono; esfrega o rosto com as mãos, estica os dedos e, tirados os olhos do
livro, fixa-os sobre a parede; de novo os volta para o livro, vai em frente
por mais algumas linhas, balbuciando o final de cada palavra que lê; e
enquanto enche a cabeça com cálculos ociosos, conta o número das páginas
e das folhas dos cadernos; e as letras e as belas miniaturas que tem diante
dos olhos se tornam odiosas até que, por fim, fecha o livro e o usa como
travesseiro para a sua cabeça, caindo num sono breve e não profundo, do
qual é despertado por um senso de privação e de fome que deve saciar.
(Sancti Nili apud Agamben, 1979, p. 22-23).
Nessa passagem, percebemos que a acídia é posta como um mal que se
abate sobre o corpo e o espírito, sob o signo da preguiça, e que nada se tem a
fazer. O demônio do meio-dia assola de tal maneira que é preciso combatê-lo
com todas as forças, por isso, para os padres, é um pecado mortal. Porém, Tomás
de Aquino não coloca a acídia sob o signo da preguiça, mas sim sob o da angustiada
tristeza e do desespero. Agamben (1979), portanto, citando Tomás Aquino, nos
diz: “O que preocupa o acidioso não é, pois, a consciência de um mal e sim, pelo
contrário, o fato de ter em conta o mais elevado dos bens; acídia é o vertiginoso e
assustado retrair-se (recessus) frente ao compromisso da estação do homem diante
de Deus” (p. 28). E pela acídia ser um mal mortal e do qual não há como escapar
ou evitar, deve-se combatê-la drasticamente. Todavia, Agamben acrescenta que o
fato de o acidioso retrair-se diante do seu fim divino não equivale, realmente, a
que ele consiga esquecê-lo ou que deixe de desejá-lo.
Por outro lado, Freud, em seu ensaio de 1917, Luto e melancolia, analisa
psicanaliticamente o conceito de luto4 e de melancolia sob a égide da libido e do
narcisismo, na qual a sombra do objeto cai sobre o ego, com o recesso do objeto
e a retração em si mesma da intenção contemplativa. Ou seja, a análise de Freud
é comparativa, tentando esclarecer a essência da melancolia comparando-a com a
4
Como aponta a tradução brasileira (Freud, 1917), o termo alemão Trauer, como o inglês mourning,
pode significar tanto o afeto da dor quanto sua manifestação externa. Trauer significa tristeza profunda
pela perda de alguém e luto no sentido das marcas externas desse estado (vestir-se de luto, a
duração do luto). A proximidade do conceito de luto com o de tristeza é, em alemão, mais evidente
do que em outras línguas: vem de Trauer o adjetivo Traurig (triste).
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 145
Adriano Barros
do afeto normal do luto. Segundo Freud, o luto se resume na perda de um objeto
querido, amado ou desejado. Esse objeto pode ser uma pessoa amada, a pátria
querida, o carro tão desejado, o celular tão almejado, que, depois de comprado e
por força do destino, foi perdido ou roubado – ou pode ser simplesmente uma
abstração que esteja no lugar destes objetos. Ou seja, é como reação a essa perda
que o luto se instala. O psicanalista austríaco nos diz que
A prova da realidade mostrou que o objeto amado já não existe mais e
agora exige que toda a libido seja retirada de suas ligações com esse objeto.
Contra isso se levanta uma compreensível oposição; em geral se observa
que o homem não abandona de bom grado uma posição da libido, nem
mesmo quando um substituto já se lhe acena. Essa oposição pode ser tão
intensa que ocorre um afastamento da realidade e uma adesão ao objeto
por meio de uma psicose alucinatória de desejo. O normal é que vença o
respeito à realidade. Mas sua incumbência não pode ser imediatamente
atendida. Ela será cumprida pouco a pouco com grande dispêndio de tempo
e de energia de investimento, e enquanto isso a existência do objeto de
investimento é psiquicamente prolongada. Uma a uma, as lembranças e
expectativas pelas quais a libido se ligava ao objeto são focalizadas e
superinvestidas e nelas se realiza o desligamento da libido (Freud, 1917,
p. 48-49).
No excerto citado, fica claro que o sujeito tem que passar por um período
de constante dor, como se o enlutado lutasse psiquicamente para se desligar pouco
a pouco da libido em relação ao objeto de prazer e satisfação narcísica que o ego
perdeu, por morte, perda ou abandono. Com isso, paulatinamente, o enlutado vai
se desligando do objeto perdido, a psicose alucinatória de desejo dando lugar à
aceitação da realidade. Embora, escreve Maria Rita Kehl (2011),
a libido tenha enorme resistência em abandonar posições prazerosas já
experimentadas, aos poucos a ausência do objeto impõe o doloroso
desligamento, até que o ego se veja “novamente livre desinibido”, pronto
para novos investimentos. Pronto para voltar a viver (p. 18-19).
Por mais que seja doloroso o tempo de luto, é um tempo pelo qual devemos
passar, porque é um desprazer natural, “uma vez concluído o trabalho de luto, o
ego fica novamente livre e desinibido” (Freud, 1917, p. 50-51). Porém, mesmo
que algumas características do luto sejam designadas, também, à melancolia, a
146 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
perda para o melancólico é de natureza ideal. O objeto não é algo que realmente
morre, mas que se perde como objeto de amor. E acrescenta Freud: “Não podemos
discernir com clareza o que se perdeu e com razão podemos supor que o doente
também não é capaz de compreender conscientemente o que ele perdeu” (Idem,
p. 50-51). Por tanto, se, para o melancólico, há um rebaixamento considerável de
sua autoestima, um empobrecimento do ego, ou seja, para ele o ego se torne
totalmente vazio, como a perda do objeto é inconsciente, o próprio melancólico
não sabe o que se perdeu. Em contrapartida, para o enlutado, “é o mundo que se
tornou pobre e vazio” (Freud, 1917, p. 52-53), porque a perda é consciente, e só o
tempo poderá resolver o estado de luto, para que o ego possa se desligar do objeto
e viver livremente novas experiências. Nem sempre, contudo, o desligamento do
enlutado é totalmente consciente, como aponta Maria Rita Kehl (2011)5; podendo
efetuar-se, em alguns casos, inconscientemente.
Mas não há obstáculos a que seu resultado chegue à consciência. O enlutado
consegue pensar que está menos triste, consegue admitir o paulatino desapego do
objeto perdido. Na melancolia a batalha é mais em função da ambivalência, que
pertence em si mesma ao reprimido. Quando a libido finalmente se desliga do
objeto amado/odiado, o aspecto narcísico da relação primitiva faz com que ela
retorne não a outro objeto qualquer, mas ao próprio ego, que é subitamente
revitalizado pelo retorno da libido. A esse aspecto econômico, acrescentamos os
aspectos tópicos e dinâmicos do triunfo do ego sobre o objeto que o subjugava,
objeto que permanece tão inconsciente e enigmático para o ego quanto no período
melancólico (p. 22).
A concepção trágica para Nietzsche
Nietzsche publica sua primeira obra em 1871, O nascimento da tragédia,
em que o autor desenvolve a tese do conceito de arte, produto de dois espíritos, o
apolíneo e o dionisíaco. A priori, o filósofo postula a existência desses dois
espíritos. Cada um rege um tipo de arte diferente: as artes plásticas cabem ao
espírito apolíneo, porque ele é, como diz Otto (2006), “o mais espiritual de todos
os deuses, aquele em cujo nome pôde dizer Empédocles a respeito da divindade
em geral, que é o Espírito Santo a percorrer todo o cosmo com o pensamento
5
Para um melhor entendimento sobre a análise que Maria Rita Kehl faz do conceito Contemporâneo
de melancolia, consulte os ensaios: Da melancolia às depressões e O tempo e o cão, em seu livro
O tempo e o cão: a atualidade das depressões (2009).
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 147
Adriano Barros
veloz” (p. 142); a arte sem forma ou musical cabe ao espírito dionisíaco. Da fusão
das duas potências surge a obra superior: a tragédia ática.
A seus dois deuses da arte, Apolo e Dionísio, vincula-se a nossa cognição
de que no mundo helênico existe uma enorme contraposição, quanto a
origens e objetivos, entre a arte do figurador plástico [Bildner], a apolínea,
e a arte não figurada [Unbildlichen] da música, a de Dionísio: ambos os
impulsos, tão diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes em
discórdia aberta e incitando-se mutuamente a produções sempre novas,
para perpetuar nelas a luta daquela contraposição sobre a qual a palavra
comum “arte” lançava apenas aparentemente a ponte; até que, por fim,
através de um miraculoso ato metafísico da “vontade” helênica, apareceram
emparelhados um com o outro, e nesse emparelhamento tanto a obra de
arte dionisíaca quanto a apolínea geraram a tragédia ática (Nietzsche, 1871,
p. 24).
Percebe-se que Nietzsche abre, em seu primeiro parágrafo de O nascimento
da tragédia, uma teoria sobre a criação artística, mas não apenas com esse objetivo.
Como aponta Roberto Machado (2001), há também, uma crítica à “racionalidade
conceitual instaurada na filosofia por Sócrates e Platão” (p. 11), porque, para
Nietzsche (1873), a razão é “um outro tipo de representação que se consuma em
conceitos e combinações lógicas” (p. 56). Tendo em vista essa teoria estética
racionalista socrática, o filosofo trágico a vê como um ponto negativo, porque faz
o poeta se submeter à razão, desclassificando-o, desvalorizando o seu ofício por
ele não ter consciência do que faz e não apresentar claramente o seu saber, completa
Machado:
Essa antinomia entre arte trágica e metafísica racional, apresentada por
Nietzsche em O nascimento da tragédia, significa, portanto, duas coisas:
por um lado, o “socratismo estético” subordinou o poeta ao teórico, ao
pensador racional, e considerou a tragédia irracional, isto é, um
compromisso de causas sem efeito e de efeitos sem causa; por outro lado,
a arte trágica é a atividade que dá acesso às questões fundamentais da
existência e se constitui, ainda hoje, como antídoto à metafísica racional
(Machado, 2001, p. 11-12).
Roberto Machado deixa bem claro que, para Nietzsche, a metafísica é
incapaz de expressar a tragicidade do mundo, as angústias do ser humano, de
148 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
expressar, como faz a tragédia em sua imitação, com seu caráter elevado, o terror
e a piedade da existência humana. Como aponta Aristóteles em sua Poética, ou
como o próprio Roberto Machado (2001) citando Nietzsche, a experiência trágica,
com sua música e seu mito, é capaz de justificar a existência do “pior dos mundos”
transfigurando-o (p. 12).
Portanto, Nietzsche assinala que é na criação da obra de arte trágica que se
pode conferir sentido à vida e que só os gregos – reitera o filósofo alemão –
tinham alcançado essa magnitude. Se quiséssemos ter uma noção do que era essa
magnitude, teríamos que ter a coragem de nos engajarmos na tentativa de nos
aproximarmos da magnitude do espírito grego para tentarmos interpretá-lo. Como
enfatiza Giorgio Agamben (1970) – segundo o qual a arte é dom do espaço original
do homem:
Como todo sistema mítico-tradicional conhece rituais e festas cuja
celebração visa interromper a homogeneidade do tempo profano e,
ritualizando o tempo mítico original, permitir ao homem se tornar de novo
o contemporâneo dos deuses e atingir novamente a dimensão primordial
da criação, assim, na obra de arte, se despedaça o continuum do tempo
linear e o homem reencontra, entre passado e futuro, o próprio espaço
presente. Assim, olhar uma obra de arte significa ser lançado para fora, em
um tempo mais original, êxtase na abertura epocal do ritmo, que doa e
mantém. Somente a partir dessa situação da relação do homem com a obra
de arte é possível compreender como essa relação – se autêntica – é também,
para o homem, o compromisso mais alto, isto é, o compromisso que o
mantém na verdade e concede à sua demora sobre a terra o seu estatuto
original (p. 165).
Nietzsche (1871) também nos mostra alguns caminhos, na tentativa de
entendermos essa magnitude grega, e um desses caminhos é a caracterização das
duas potências, a apolínea e a dionisíaca “como os universos artísticos, separados
entre si, do sonho e da embriaguez” (p. 24). Ou seja, para Nietzsche, a tragédia
grega se origina a partir do fenômeno lírico-musical, e descrevendo Apolo como
máscara e aquele que possibilita a manifestação de Dionísio a partir da música:
Dionísio é, para Nietzsche, o herói de todas as tragédias, no sentido de que
as figuras famosas do teatro grego, como Prometeu, com seu amor titânico
pelos homens, e Édipo, com sua sabedoria desmesurada, são apenas suas
máscaras. E se, na tragédia, Dionísio se objetiva nas aparências apolíneas,
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 149
Adriano Barros
aparecendo em cena individualizado, a máscara de um herói lutador, e como
que enredado nas malhas da vontade individual, é justamente para sofrer
os padecimentos da individuação e apresentar o estado de individuação
como a causa do mal, a fonte do sofrimento, evidenciando a necessidade
de sua rejeição em nome da universalidade de tudo o que existe (Machado,
2006, Op. cit., p. 232).
Segundo aponta assertivamente Machado, Dionísio é, para Nietzsche, aquele
que se manifesta pela máscara de Apolo. Com isso, com a ajuda do deus Sol, não
é autoaniquilado pela sua força incomensurável. Em suma, percebemos que
Nietsche apara sua proposição diante de um Deus indomável e justificado na
tragédia de Eurípedes. O filósofo trágico descreve a tragédia e os ditirambos como
desdobramentos de poemas líricos:
Quando Arquíloco, o primeiro lírico dos gregos, manifesta o seu amor
furioso e, ao mesmo tempo, o seu desprezo pelas filhas de Licambes, não é
a sua paixão que dança diante de nós em torvelinho orgiástico: vemos
Dionísio e as Mênades, vemos o embriagado entusiasta Arquíloco imerso
em sono profundo – tal como Eurípedes no-lo descreve em As Bacantes,
em alto prado alpestre, ao sol do meio-dia –; e então Apolo se aproxima
dele e toca com o seu laurel. O encantamento dionisíaco-musical do
dormente lança agora à sua volta como que centelhas de imagens, poemas
líricos, que em seu mais elevado desdobramento se chamam tragédias e
ditirambos dramáticos (Nietzsche, 1871, p. 41).
Com isso, percebemos como Nietzsche (1871) caracteriza o trágico diante
dessas duas potências: de um lado Apolo, “na qualidade de deus dos poderes
configuradores, é ao mesmo tempo o deus divinatório” (p. 26); do outro lado,
Dionísio, que nos mostra sua essência “o mais de perto possível, pela analogia da
embriaguez” (Idem, p. 27). Sob o frêmito da embriaguez, o homem se torna obra
de arte e não mais artista. Na junção das duas potências, tão antagônicas, mas ao
mesmo tempo complementares, nasce o que há de mais elevado: a tragédia.
A terceira margem do rio: um narrador trágico
O trabalho que João Guimarães Rosa faz com a linguagem, em seus contos,
é incrível. A sua habilidade de criar uma atmosfera onírica, com contornos de
150 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
mistérios, faz com que o leitor se sinta atraído abruptamente pelos seus contos.
Tal sedução que os contos de Rosa nos desperta, levando-nos a um mundo de
sonhos, de mistérios, de mitos, de lendas, do maravilhoso, aparece em A terceira
margem do rio6 (1962). Mas, no conto, trataremos de que modo o trágico é
apresentado, encarnado por alguns elementos e, principalmente, de que modo o
narrador-personagem se caracteriza enquanto narrador trágico. Como elucida no
ensaio O sentido do trágico em A terceira margem do rio, Consuelo Albergaria
traça um paralelo entre a “unidade de ação” desse conto “e a do teatro grego
clássico” (Albergatia, 1991, p. 523), identificando como trágico o estado de
imobilidade das personagens. Ou como Eduino Orione (2008), que parte de uma
associação entre Consuelo e o drama barroco alemão, identificando na personagem
principal aspectos tais como a melancolia e o luto, traços distintivos “do herói
trágico barroco” (p. 69).
Em resumo, antes de seguir com a análise propriamente dita, o conto trata
de um homem, o narrador-personagem, contando como, certo dia, seu pai resolveu
pedir para que lhe construíssem uma canoa. O filho, em tom memorialístico, vai
evocando o passado a partir de sua memória, do presente vivido. A filósofa Olgária
Matos (2010) assinala que “O presente é capaz tanto de nos despertar quanto de
ser ele mesmo despertado e, com isso, invertem-se as relações do tempo, por
sermos, simultaneamente, a infância, a maturidade e a adolescência, isto é,
memória” (p. 29). O narrador do conto afirma: ‘Do que eu mesmo me alembro’,
de antemão justificando que sua rememoração não é bem precisa, como se “o
processo da memória no homem fizesse intervir não só a ordenação de vestígios,
mas também a releitura desses vestígios” (Le Goff, 1988, p. 424). Justamente
nesse tom memorialístico, ‘meu pai’ – acrescenta o narrador do conto –
‘encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha
da popa, como para caber justo o remador.’ Pronta a canoa, o pai se aprumou nela
e seguiu rio à dentro, permanecendo naquele espaço de rio sem nunca mais voltar
à terra firme, mesmo a família esperando e rogando sua volta, mesmo os vizinhos
pedindo para que voltasse, mesmo depois de o neto nascer. Inexplicavelmente, o
pai não retorna.
O narrador-personagem se apresenta como um ‘homem de tristes palavras’,
num tom melancólico, culposo, angustiado. Mesmo quando descreve a personagem
do pai como ‘homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde mocinho e
menino’, o tom é melancólico, como se a imagem do pai simbolizasse algo que
6
Todas as citações do conto A terceira margem do rio serão marcadas com aspas simples (‘ ’).
Usaremos a edição de Primeiras estórias da Editora Nova Fronteira de 1985.
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 151
Adriano Barros
foi, mas que não é, restando apenas o silêncio na memória na qual o pai ‘não
figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só
quieto’. Um certo mutismo do pai ao longo do conto, ao passo que o rio, como
metáfora, ‘se estendendo grande, fundo, calado que sempre’, se torna algo
aterrorizador para o narrador. Diferente da imagem que ele tem da mãe, uma
pessoa ‘que regia, e que ralhava no diário com a gente’. Mesmo quando o narrador
levava comida e a deixava numa pedra de barranco para seu pai, ela é descrita
como uma pessoa que sabia de tudo, ‘nossa mãe sabia desse meu encargo, só se
encobria de não saber’, como se fosse um modo, um ato de deixar o filho tomar
suas próprias decisões e suas escolhas, numa metáfora para a maturidade.
O mito do rio como memória-esquecimento é muito forte no conto. O rio é
‘largo, de não se poder ver a forma da outra beira’, símbolo do desconhecido, mas
presente, como se fosse o começo de tudo, enigmático, elemento fundador, que
lhe traz a sensação do desalento, desconsolo, o momento único e melancólico do
dia em que a canoa ficou pronta, cuja imagem não consegue mais esquecer ou
dela se desvencilhar. O mito do rio traz o mito do barqueiro Caronte, aquele que
leva os mortos para o outro lado, às portas do Hades, como se a canoa do pai
representasse, simbolicamente, um caixão, feita pequena, ‘para caber justo o
remador’, aquele que vai pelas águas correntes do rio para o além-lugar. O rio, a
canoa, as águas do rio remetem a algo inefável, ao tempo que é demarcado pelo
narrador pela memória da infância, da juventude e da velhice. Como se aludisse
ao grande enigma da esfinge dirigido a Édipo, cuja resposta é relativa ao tempo
vivido pelo homem.
Esses três momentos do conto são fundamentais para entendermos como o
narrador descreve sua angústia, negando a própria vida, que teria sido, mas não
foi, voltando-se para refletir sobre ela. E toda essa reflexão emerge a partir da
memória. Os objetos da memória, como assinala Olgária Matos (2010), “são
phantásmatas, imagens de algo que não é mais, são imagens de nada” (p. 27),
cujo modo de conhecer consiste em “representar na intuição um objeto mesmo
em sua ausência” (p. 26).
Como já se disse acima, a culpa do narrador é evidenciada logo no início
do conto, quando diz que ‘esquecer não posso, do dia em que a canoa ficou pronta’,
porque foi o momento crucial da ruptura com o momento presente do pai e o
momento ausente do pai, numa antítese “presença-ausência, perto-longe” (Orione,
2008, p. 69). O pai não volta, mas também ‘não tinha ido a nenhuma parte’,
porque ‘aquilo que não havia, acontecia’. O pai embrenhando no rio adentro e
afora, mesmo os passadores, as pessoas, os amigos, nunca conseguiam pegar o
pai na canoa; quando uma lancha tentou pegá-lo para tirar fotos, ele, o pai em sua
152 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
canoa, embrenhou-se pelo rio em que ninguém o via, como um fantasma
‘desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão, de léguas, que há, por
entre juncos e mato, e só ele conhecesse, a palmos, a escuridão daquele’; nunca
surgia ‘a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como
cursava no rio, solto solitariamente.’
A aparição do pai como fantasma lembra o rei dinamarquês que, depois da
morte, vem como aparição, como fantasma a seus soldados, depois ao seu filho,
Hamlet. O narrador de A terceira margem do rio (1962) e Hamlet (1603) são
personagens marcados por essa perda do pai. Os dois são o “paradigma do
melancólico” (Orione, 2008, p. 69). Tanto um quanto o outro vivem um luto
interminável, deixam de viver, de experienciar, pois não conseguem aceitar a
perda do pai. O príncipe dinamarquês e o narrador do conto de Rosa sempre
acham que precisam fazer algo em nome do pai, mas não conseguem sair do
lugar. Como se eles não conseguissem mais encontrar entre passado e futuro o
espaço do presente e se perdessem, completa Agamben (1970), “no tempo linear
da história” (p. 179).
O narrador-personagem tenta tomar o lugar do pai em certo momento
gritando na beira do penhasco ‘Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto... Agora,
o senhor vem, não carece mais... O senhor vem, e eu, agora mesmo, quando que
seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa!...’. Mas o
narrador se arrepende e sai de lá tremendo, arrepiados os cabelos. Walter Benjamin
(1928) tece um comentário muito prolífico a respeito de Hamlet, em que só essa
personagem de Shakespeare (1603) poderia representar aquela figura humana
que corresponderia à dicotomia entre a iluminação neoantiga e a medieval:
O mistério da sua personagem está contido na travessia, lúdica, mas por
isso mesmo equilibrada, por todas as estações desse espaço intencional, do
mesmo modo que o mistério do seu destino está contido numa ação
totalmente em sintonia com o seu olhar. Só Hamlet é, para o drama trágico,
espectador por graça divina; mas o que pode satisfazê-lo não é o que se
representa, é apenas o seu próprio destino. A sua vida, como objeto exemplar
emprestado ao seu luto, aponta, antes de se extinguir, para a providência
cristã, em cujo seio as suas tristes imagens passam a ter uma existência
bem-aventurada. Só numa vida de príncipe como esta a melancolia se
resolve, encontrando-se consigo mesma. O resto é silêncio, pois tudo que
não foi vivido está destinado à ruína neste espaço assombrado pela palavra,
meramente ilusória, da sabedoria. Só Shakespeare conseguiu fazer brilhar
a centelha cristã a partir da rigidez do melancólico [...] (p. 165-166).
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 153
Adriano Barros
Tanto Hamlet quanto o narrador do conto são paradigma do melancólico,
do trágico. Percebe-se que essa melancolia que se estabelece no narrador apresenta-
se como um estado de tristeza e reflexão. Ressaltando-o, esse estado fica muito
claro quando o narrador diz: ‘Sou homem de tristes palavras’, caracterizando a
melancolia como uma marca do herói trágico, o que o leva ao luto, ao silêncio, à
mudez, a uma tristeza inigualável conforme Walter Benjamin (1928), “Pois esta é
a marca própria do si-mesmo (Selbst), o selo da sua grandeza e também o sinal da
sua fraqueza: ele cala-se. O herói trágico tem apenas uma linguagem que
plenamente lhe corresponde: precisamente a do silêncio” (p. 109).
Em outro momento, em uma das Teses sobre a filosofia da história, Walter
Benjamin ([c2012]) descreve a imagem do homem que perdeu a ligação do próprio
passado e não consegue se reconhecer nem se reencontrar na história:
Há um quadro de Klee intitulado Angelus Novus. Representa um anjo que
parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente.
Tem os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo
da história deve ter esse aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de
fatos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem
fim, que incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhas lança aos pés.
Ele gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir dos seus
fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um vendaval
que se enrodilha nas suas asas e que é tão forte que o anjo já não as consegue
fechar. Esse vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro, a que ele
volta as costas, enquanto o monte de ruínas à sua frente cresce até o céu.
Aquilo a que chamamos o progresso é este vendaval (p. 14).
Entretanto, há uma gravura de Dürer que tem um paralelo com a
interpretação de Benjamin sobre o quadro de Klee. Na gravura, há um anjo alado
sentado, sob constante meditação, o olhar está absorto, para a frente; ao seu lado,
jazem no chão alguns utensílios da vida ativa: uma mó, uma plaina, pregos, um
martelo, um esquadro, um alicate e uma serra. Às suas costas há uma ampulheta
cuja areia está escorrendo, um sino, uma balança e um quadro mágico e, no mar
que aparece ao fundo, um cometa que brilha sem esplendor. Percebemos que,
sobre toda a cena representada no quadro, há uma atmosfera quase sombria,
crepuscular, em que, de cada particularidade se pode extrair a sua materialidade.
De um lado temos o anjo da história representado pelo quadro de Klee, de
outro há o anjo alado de Dürer, uma figura melancólica representando o anjo da
arte. Enquanto o anjo da arte tem sua face voltada para a frente, o anjo da história
154 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
tem sua face voltada para o passado. “A tempestade do progresso que se prendeu
nas asas do anjo da história aqui se acalmou e o anjo da arte parece imerso em
uma dimensão atemporal” (Agamben, 1970, p. 176). Como se o passado se
apresentasse para o anjo da história como um acúmulo de indecifráveis ruínas. Já
os utensílios da vida ativa, representados no quadro de Dürer, estão espalhados
sem significado para o anjo melancólico, algo inapreensível. Segundo Agamben:
O passado, que o anjo da história perdeu a capacidade de entender,
reconstitui a sua figura diante do anjo da arte; mas essa figura é a imagem
estranhada na qual o passado reencontra a sua verdade apenas sob a condição
de negá-la e o conhecimento do novo é possível apenas na não verdade do
velho. Redenção que o anjo da arte oferece ao passado, convocando-o a
comparecer fora do seu contexto real no último dia do Juízo estético, não
é, portanto, nada além da sua morte (ou melhor, a sua impossibilidade de
morrer) no museu da esteticidade. E a melancolia do anjo é a consciência
de ter feito do estranhamento o próprio mundo e a nostalgia de uma realidade
que ele não pode possuir de outro modo a não ser tornando-a irreal
(Agamben, 1970, p. 177).
É nesses espaços entre o anjo da história e o anjo da arte, representados
pelos quadros de Klee e Dürer, que vemos o homem não conseguindo mais
encontrar entre o passado e futuro o espaço do presente e se perdendo no tempo
linear da história como foi dito acima. Em suma, “o anjo da história, cujas asas se
prenderam na tempestade do progresso, e o anjo da estética, que fixa em uma
dimensão atemporal a ruína do passado, são inseparáveis” (Agamben, 1970, p.
179).
O narrador de A terceira margem do rio, por nunca conseguir sair de seu
luto, aceitando e não aceitando a perda do pai, vive uma vida que não é vivida,
vive uma ausência-na-presença, o estar e não-estar do pai: ‘Às penas, que, com
aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou, em si, na verdade’. E ele tira por ele
mesmo ‘que, no que queria, e no que não queria, só com nosso pai me achava:
assunto que jogava para trás meus pensamentos.’ Como nunca saía do passado,
não caminhava para a frente, seus olhos estavam pregados na lembrança, ‘sem
fazer conta do se-ir do viver’. Freud (1917) caracterizou a melancolia como um
desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo
externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e um
rebaixamento do sentimento de autoestima, que se expressa em
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 155
Adriano Barros
autorrecriminações e autoinsultos, chegando até a expectativa delirante de
punição (p. 47).
Esse pequeno excerto é muito esclarecedor para caracterizar o estado de
espírito em que se encontra nosso narrador, no qual se pune constantemente sem
se dar conta desse conflito. Esse conflito é acentuado porque o pai mora em uma
canoa sem estar morto, vagando num rio e deixando a família num estado de luto
constante. Para o narrador esse estado de luto percorre sua infância, a idade adulta
até a velhice. Num estado no qual o apolíneo e o dionisíaco se complementam.
Por um lado, à espera do regresso do pai, por outro, o ressurgimento, hora sim,
hora não, do pai em sua memória como um fantasma que percorre sua vida, num
equilíbrio entre os impulsos apolíneo e dionisíaco. Como se esses três momentos
da vida do narrador fizessem uma alusão às três partes da tragédia que o filósofo
Aristóteles nos mostra na Poética: prólogo, episódio e êxodo (Aristóteles, [1895],
p. 251).
O primeiro momento, a infância, como já se demonstrou acima, é marcado
pela construção da canoa do pai e sua partida descendo e subindo o rio entre as
margens da memória que resta ao narrador. O segundo momento é marcado pelo
casamento de sua irmã, deflagrando a entrada na idade adulta, em que, se espera
que todos se sintam felizes, mas o que há é um luto aparente em respeito ao pai,
momento em que o narrador diz: ‘Minha irmã se casou; nossa mãe não quis festa’.
E a não-festa deixa-lhe um estado de rememoração de como imaginava o pai,
rememoração que seguia a imagem de ‘quando se comia uma comida mais gostosa;
assim como, no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva,
fria, forte, nosso pai com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água
do temporal’.
O pai ausente está mais presente que nunca. Ali, como uma assombração
que não desaparece da memória. Entretanto é flagrante a recusa de livrar-se desse
estado de espírito, como se o tomasse por um estado dionisíaco e quisesse
experimentar e intensificar o que aí havia de mais profundo, incentivado pelo não
agir de acordo com os preceitos morais, mas sim pelos próprios instintos, conforme
cita Nietzsche (1871) para o estado dionisíaco: “O homem é incitado à máxima
intensificação de todas as suas capacidades simbólicas; algo jamais experimentado
empenha-se em exteriorizar-se” (p. 31-32).
Mesmo quando o tempo determina que não se poderia mais falar do pai, o
narrador diz: ‘Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento; e,
se, por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de
repente, com a memória, nosso passo de outros sobressaltos’. Percebe-se que o
156 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
pai não vive mais entre os seus, mas sua presença é permanente e absoluta. Cria-
se um paradoxo existencial: uma presença ausente ou uma ausente presença?
(Orione, 2008, p. 69) Isso é tão forte no narrador que ele chega a afirmar que
‘aquilo que não havia, acontecia’. Mas essa não é a única antítese criada por
Guimarães Rosa para indicar essa presença ausente. No decorrer do conto há
muitas outras: ‘Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte’. O que
é formulado, de modo paradoxal: ‘não voltou/não tinha ido, ou perto/longe, ‘nosso
pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja, a lepra,
se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele’. Todo
esse jogo de palavras denuncia que a espera é vivida pela família como uma
constatação trágica: a espera de um pai que, ao mesmo tempo, está perto, presente
e longe, ausente. Formulações para constatar uma presença ausente ou uma ausente
presença do pai do narrador.
Nesse momento adulto, em que o narrador recupera ensinamentos recebidos
do pai, agradecendo o que ele lhe dissera quando criança e que guarda na memória
como um troféu – ‘foi o pai que um dia me ensinou a fazer assim...; o que não era
certo, exato; mas que era mentira por verdade’. Entretanto, logo se seguem, em
suas contestações sobre a ausência do pai, o impedimento do filho progenitor de
enterrá-lo e consumar seu luto: ‘se ele não se lembrava mais, nem queria saber da
gente por que, então, não subia ou descia o rio, para outras paragens, longe, no
não-encontrável?’.
Mesmo quando a irmã tem o seu primeiro filho e foram todos, ‘no barranco,
num dia bonito, minha irmã de vestido branco, que tinha sido o do casamento, ela
erguia nos braços a criancinha [...] A gente chamou, esperou. Nosso pai não
apareceu. Minha irmã chorou, nós todos aí choramos, abraçados’. Como num
ritual de sepultamento, toda a família se reúne como para fazer suas preces, honrar
o pai, jogar-lhe uma flor e um punhado de terra, acendendo uma vela e se
despedindo, dando fim ao luto indissolúvel e à sua agonia. Nesse exato momento
a família deixa de viver o não vivido e se muda para a cidade grande: primeiro
‘minha irmã se mudou, com o marido, para longe daqui’. Depois o irmão ‘resolveu
e se foi’, mais tarde a mãe ‘terminou indo também, de uma vez...’, como se tivessem
consumado o luto e o apego dos enlutados fosse se disseminando, cedendo lugar
à aceitação da realidade, prontos para novos investimentos, voltarem a viver a
vida.
Entretanto, para o narrador personagem isso não foi possível. Ele continuaria
ali, envolvido, entrelaçado em seu permanente luto, em um tom melancólico e
emblemático dizendo: ‘Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar.
Eu permaneci, com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei – na
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 157
Adriano Barros
vagação, no rio no ermo – sem dar razão de seu feito’. Eis a descrição precisa e
pungente do estado psíquico do enlutado, como afirma Freud (1917): “A perda de
um ser amado não é apenas perda do objeto, é também a perda do lugar que o
sobrevivente ocupa junto ao morto” (p. 18-19). Nesta descrição, Freud explica
que o enlutado não perdeu apenas o ser amado, mas também o lugar que ocupava
no afeto daquele pai querido. Ou seja, arrancado daquele lugar, fica vagando rio
acima, rio abaixo, entretanto continuava ali, numa presença ausente que agora
lhe parecia estranha e vazia de interesse e de alegria. Com isso, a culpa é muito
forte no sentimento do narrador, o que o faz permanecer totalmente ligado àquela
não-vida, sem se casar, sem experenciar novas possibilidades.
Num terceiro momento do conto, no qual ‘apontavam já em mim uns
primeiros cabelos brancos’, o narrador evidencia a chegada da velhice e, com ela,
a culpa indissolúvel, que arrebata, angustia, disseca toda possibilidade de um
distanciamento do pai e de consumar o luto. Ele se pergunta: ‘De que era que eu
tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência: e rio-rio-rio, o
rio – pondo perpétuo’, como se sua dor e angústia fossem para sempre. Nesse
momento desperta no narrador o princípio de individuação apolínea, manifestado
no sentimento da busca de redenção; tomando o lugar do pai, poderia encontrar
descanso de sua dor; isso seria o único meio para garantir sua existência, pois,
para ele, a vida já se acabara.
Afirmando categoricamente que ‘esta vida era só o demoramento’, num
tom trágico, enumera suas angústias, ‘ânsias, cansaços, perrenguice de
reumatismo’, parecendo prever o momento em que o pai de ‘tão idoso, não ia,
mais dia menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que
bubuiasse sem pulso, na levada do rio, para se despenhar horas abaixo, em tororoma
e no tombo da cachoeira, brava, com o ferimento e morte’. Nesse tom de caráter
dramático e angustiante o narrador sentencia: ‘Sou culpado do que nem sei, de
dor em aberto, no meu foro’.
Chegando ao fim de seu testemunho fixa-se em realizar algo para compensar
o pai. Conforme aponta Roberto Machado (2005) os “deuses e heróis apolíneos
são aparências artísticas que tornam a vida desejável, encobrindo o sofrimento
pela criação de uma ilusão. Essa ilusão é o princípio de individuação” (p. 7).
Como se essa tarefa, a ser feita de qualquer modo, o absolvesse da culpa em seu
peito. Nesse estado reflexivo sobre a própria condição, o narrador a lamenta,
consciente de sua tarefa, vê-se resignado e percebe que não lhe resta outra
alternativa senão tomar o lugar do pai. O narrador nesse momento finge que vai,
mas não vai até o barranco; ‘com um lenço, para o aceno ser mais’, espera e,
como uma assombração, o pai aparece, como um vulto, ‘sentado à popa’, parado,
158 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
calado, observando, e o filho, falou o que nele urgia, o que tinha ‘jurado e
declarado’. Com a voz reforçada grita: ‘Pai, o senhor está velho, já fez o seu
tanto... Agora, o senhor vem, não carece mais... O senhor vem, e eu, agora mesmo,
quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa!...’.
O pai escuta o filho, fica de pé, como que concordando com seu discurso, porém,
o filho treme, se perguntando por que só agora, depois de tantos anos, ele se
alevanta, estica ‘o braço e feito um saudar de gesto!’. E desiste, arrepende-se,
com os cabelos arrepiados, corre, se tirando de lá sem tomar o lugar do pai, mas
se dizendo, angustiado, ‘que ele me pareceu vir: da parte do além’ como uma
assombração, um espectro, um vulto que toma corpo. Porém com a sua recusa, o
fantasma do pai desaparece, enquanto o narrador fica ‘pedindo, pedindo, pedindo
um perdão’. Ou seja, assumir a aparência de homem penitente, resignado era,
antes de tudo, uma necessidade do narrador, pois, como assinala Nietzsche, o
“Uno-primordial, enquanto eterno-padecimento e pleno de contradição, necessita,
para a sua constante redenção, também da visão extasiante, da aparência prazerosa”
(Nietzsche, 2011, p. 36).
Numa tentativa de colocar à tona os seus instintos dionisíacos, tomaria o
lugar do pai, em consonância com a faceta apolínea de sua individualidade. Roberto
Machado (1999), referindo-se à tragédia segundo Nietzsche, afirma que esta
representa o conflito “entre o principium individuationis e o uno originário; ou,
mais precisamente, ela representa a derrota do saber apolíneo e a vitória do saber
dionisíaco, na medida em que faz da individuação um mal e causa de todo
sofrimento” (p. 25). O próprio Nietzsche assinala:
Para o herói trágico é necessário perecer, por onde ele deve vencer. Nessa
antítese, que faz pensar, nós pressentimos a suprema avaliação da
individuação [...]: o Uno originário tem necessidade dela para atingir o fim
último de seu prazer, de modo que o desaparecimento se torna tão digno e
venerável quanto o nascimento e o aquilo que nasceu deve cumprir, como
o desaparecimento, a tarefa que lhe incumbe como individualidade (apud
Machado, 1999, p. 25).
O narrador-personagem, do conto A terceira margem do rio (1962), não
consegue tomar o lugar do pai, “ele estremece ante o poder da morte, mas como
algo que lhe é familiar, próprio e destinado” (Benjamin, 1928, p. 116), por isso o
narrador sente uma grande culpa, porque ali, encarando o seu destino, sua vida
tem significado a partir da morte, mas ela não se finda, mas dá-se a sua forma,
uma vez que “a existência trágica só chega à sua realização porque os limites, os
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 159
Adriano Barros
da vida na linguagem e os da vida do corpo, lhe são dados ab initio e lhe são
inerentes” (Idem, p. 116). Lamenta-se pelo fracasso e o medo que sentiu, desde o
princípio, um ‘grave frio dos medos’. E fica se perguntando se era homem ‘depois
desse falimento?’, ou se era o que não foi, ‘o que vai ficar calado’, se lamentando
e temendo ‘abreviar com a vida, nos rasos do mundo’, lamentando sua fraqueza e
impossibilidade de lidar com o que aconteceu, porque
a unidade de lugar é o símbolo mais óbvio e imediato dessa paralisação no
meio da permanente mudança da vida envolvente; isto explica os recursos
técnicos necessários à sua expressão. O trágico resume-se a um instante: é
este o sentido contido na unidade do tempo (Benjamin, 1928, p. 119).
Como se ficasse em silêncio, calado, “quebrasse as pontes que ligam ao
deus e ao mundo, ergue-se e sai do domínio da personalidade que se define e se
individualiza no discurso intersubjetivo, para entrar na gélida solidão do si-mesmo”
(Benjamim, 2011, p. 109), onde o trágico se confirma em suas últimas palavras
‘então, ao menos, que, no artigo da morte, peguem em mim, e me depositem
também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras: e, eu,
rio abaixo, rio afora, rio a dentro – o rio’.
A imagem que o narrador nos apresenta é de um melancólico, de um
enlutado. E o luto é um estado de espírito em que, sob uma máscara, tenta
experimentar algo que lhe aparece, a sua vista, de forma enigmática, obscuro,
misterioso. Como se dentro de um nevoeiro algo fosse tomando forma, com
contornos não tão bem delineados, mas que “enquanto contraponto para a da
tragédia, só pode, por isso, ser desenvolvido através da descrição daquele mundo
que se abre diante do olhar do melancólico” (Benjamin, 1928, p. 145). Como
constata Walter Benjamim, por mais vagos que os sentimentos possam parecer,
só podem relacionar-se e correlacionar-se com a estrutura objetiva do mundo.
E essa estrutura objetiva do mundo está correlacionada diretamente aos
três momentos da vida do narrador: infância, idade adulta, velhice. Podemos
associá-los aos traços do enlutado, do melancólico, do trágico. Em que a libertação
se dá pelo viés do trágico, ou seja, ele encontra equilíbrio na ação apolínea e
dionisíaca, equilíbrio esse no qual reside a essência do trágico, segundo a
concepção nietzschiana. Assinala Machado (1999) que, para Nietzsche, a visão
do trágico se estabelece num “equilíbrio entre a ilusão e a verdade, entre a aparência
e a essência: o único modo de superar a oposição metafísica de valores” (p. 26)
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o narrador de A terceira margem do rio
segue uma trajetória que desemboca no trágico, tendo em vista o conflito que se
160 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
estabelece entre a essência dionisíaca e o mundo da aparência apolínea, tendo um
único e fundamental propósito: a redenção.
Assim, podemos afirmar que esse conto nos leva a patamares diversos de
significações e representações inerentes ao homem, fazendo com que o leitor se
coloque num estado reflexivo de sua própria condição existencial, como se o véu
de Maia tivesse sido rasgado e, reduzido a tiras, fosse levado numa canoinha, rio
afora, rio a dentro – rio.
Abstract
Mourning, melancholia, and the tragic in the The third bank of the river, by
Guimarães Rosa
This article aims to analyze the short story The third bank of the river, by João
Guimarães Rosa, taking in consideration two relevant intersecting points. The
first point is mourning and melancholia; the second point to be discussed is the
tragic. We will use as a theoretical basis the concept of nietzschean tragic and
how it manifests itself in the tale, given in its constitution two opposing drives,
the Apollo’s and the Dionysus’. The analysis of mourning and melancholia is
founded in the article Mourning and melancholia by Sigmund Freud. It is important
to remember, however, that the tale allows various interpretations, since it is an
enigmatic text, which, as an open work, permits multiple possibilities of readings.
Keywords: Freud, Nietzsche, João Guimarães Rosa, melancholia, tragic.
Resumen
El duelo, la melancolía y el trágico en A terceira margem do rio, de Guimarães
Rosa
El presente artículo tiene por objetivo analizar el cuento A terceira margem do
rio, de João Guimarães Rosa, sobre dos puntos relevantes que se cruzan. El primero
es el duelo y la melancolía; el segundo punto a tratar es el trágico. Utilizaremos
como base teórica el concepto de trágico nietzschiano y cómo ése se manifiesta
en el cuento, teniendo en cuenta, en su constitución, dos pulsiones opuestas, la de
Apolo y la de Dionisio. Para anclarnos en el análisis del duelo y la melancolía, a
su vez, usaremos el artículo Duelo y melancolía, de Sigmund Freud. Sin embargo,
no perderemos de vista que el cuento posibilita diversas interpretaciones; se trata
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 161
Adriano Barros
de un texto enigmático, como obra abierta que es, nos permite múltiples
posibilidades de lectura.
Palabras clave: Freud, Nietzsche, João Guimarães Rosa, melancolía, trágico.
Referências
Agamben, G. (1970). O homem sem conteúdo (pp. 117-201). Tradução, notas e posfácio Cláudio
Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.
Agamben, G. (1979). Estâncias: a palavra e o fantasma na cultura ocidental (pp. 09-56).
Tradução de Selvino José Assmann. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
Albergaria, C. (1991). O sentido do trágico em “A terceira margem do rio”. In F. E. Coutinho
(Org.). Guimarães Rosa (pp. 520-526), Rio de janeiro: Civilização Brasileira.
Aristóteles. ([1895]). A poética. In J. A. M. Pessanha (Org.). Os pensadores (pp. 241-269). Trad.
de Vincenzo Cocco et al. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
Aristóteles. ([c1998]). O homem de gênio e melancolia: o problema XXX, 1. (pp. 81-105).
Tradução do grego de Jackie Pigeaud e Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Lacerda.
Benjamin, W. (1928). Origem do drama trágico alemão (pp. 15-166). Tradução de João Barreto.
Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
Benjamin, W. ([c2012]). O anjo da história (pp. 09-20). Tradução de João Barreto. Belo
Horizonte: Autêntica.
Éfeso, Heráclito de. ([c1996]). Os pré-socráticos. In Os pensadores. Trad. de Wilson Regis. São
Paulo: Nova Cultural, p. 92 – fragmento 49.
Freud, S. (1917). Luto e melancolia. Tradução de Marilene Carone, introdução e notas de
Marilene Carone. São Paulo: Cosac Naify, 2011.
Homero. ([c2003]). A Odisseia (pp. 307-324). Tradução do grego de Frederico Lourenço.
Lisboa: Cotovia.
Kehl, M. R. (2009). O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo.
Kehl, M. R. (2011). Melancolia e criação. In Luto e melancolia (pp. 08-31). Tradução,
introdução e notas de Marilene Carone. São Paulo: Cosac Naify.
Le Goff, J. (1988). História e memória. Tradução de Bernardo Leitão (4.ed.), Campinas:
UNICAMP, 1996.
Machado, R. (1999). A arte trágica e a apologia da aparência. In Nietzsche e a verdade (pp. 24-
29). São Paulo: Paz e Terra.
Machado, R. (2001). Zaratustra, tragédia nietzschiana (3 ed.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Machado, R. (2006). O nascimento da tragédia: de Schiller a Nietzsche. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar.
162 Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015
O luto, a melancolia e o trágico em A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa
Machado, R. (Org.) (2005). Nietzsche e a polêmica sobre o nascimento da tragédia. Trad. de
Pedro Süssekind. Rio de janeiro: Jorge Zahar.
Matos, O. C. F. (2010). Benjaminianas: cultura capitalista e fetichismo contemporâneo. São
Paulo: UNESP.
Nietzsche, F. (1871). O nascimento da tragédia. Tradução de J. Guinsburg. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
Nietzsche, F. (1873). A filosofia na idade trágica dos gregos. Org. e Trad. Fernando R. de
Moraes Barros. São Paulo: Hedra, 2008.
Orione, E. J. M. (2008). O drama barroco em A terceira margem do rio. In Ângulo 115: 66-72.
Recuperado de: http://www.fatea.br/seer/index.php/angulo/article/viewFile/99/86.
Otto, W. F. (2006). Teofania: o espírito da religião dos gregos antigos. Tradução de Ordep
Trindade Serra. São Paulo, Odysseus.
Rosa, J. G. (1962). Primeiras estórias (14. ed.). São Paulo: Nova Fronteira, 1985.
Shakespeare, W. (1603). Tragédias: Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth. Tradução de
Domingos Ramos. Lisboa: editora Mediasat Group, 2004, p. 249-561. Coleção: Os
grandes gênios da literatura universal.
Recebido em 28/07/2013
Aceito em 08/01/2014
Revisão técnica de Denise do Prado Bystronski
Adriano Santos Barros
Rua: Vinte, 10 – bloco 01, apto 3B
08260-360 – Itaquera – SP – Brasil
email: barrosadrianos@ig.com.br
© Revista de Psicanálise – SPPA
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 22, n. 1, p. 141-163, abril 2015 163
Você também pode gostar
- Estudos Da Edade MediaDocumento346 páginasEstudos Da Edade MediaShadowAinda não há avaliações
- Dialnet ACulpaDoChefeAtrida 6298070Documento18 páginasDialnet ACulpaDoChefeAtrida 6298070Dani FariasAinda não há avaliações
- Núcleo de Investigação Psicanalítica - As Psicoses e AutismoDocumento62 páginasNúcleo de Investigação Psicanalítica - As Psicoses e AutismoLaura CastroAinda não há avaliações
- O Vestígio e A AuraDocumento5 páginasO Vestígio e A AuraAdriano SilvaAinda não há avaliações
- Nietzche e A Represenatação Do Dionisíaco - Roberto MachadoDocumento28 páginasNietzche e A Represenatação Do Dionisíaco - Roberto MachadoRicardo Pinto de SouzaAinda não há avaliações
- Um Traçado Das Patologias Do Livro de EmillyDocumento34 páginasUm Traçado Das Patologias Do Livro de Emillysamya salesAinda não há avaliações
- A Tragédia Sob o Signo de SaturnoDocumento20 páginasA Tragédia Sob o Signo de SaturnoViviane CostaAinda não há avaliações
- Góticos: Contos clássicos – Vampiros, múmias, fantasmas e outros astros da literatura de terrorNo EverandGóticos: Contos clássicos – Vampiros, múmias, fantasmas e outros astros da literatura de terrorAinda não há avaliações
- 05 GagnebinDocumento12 páginas05 Gagnebinagustin86Ainda não há avaliações
- Sublime Patético: A Presença do Trágico, do Sublime e da Melancolia nos Romances de Valter Hugo MãeNo EverandSublime Patético: A Presença do Trágico, do Sublime e da Melancolia nos Romances de Valter Hugo MãeAinda não há avaliações
- Tesemestmito 000065822Documento189 páginasTesemestmito 000065822Luiz NascimentoAinda não há avaliações
- Introdução Ao Contexto Do PerspectivismoDocumento7 páginasIntrodução Ao Contexto Do PerspectivismoRenato Ponzetto AymberéAinda não há avaliações
- #02 Nietzsche e o Problema de SócratesDocumento7 páginas#02 Nietzsche e o Problema de SócratesApollo AguiarAinda não há avaliações
- Hilário Franco - Utopias Medievais - ApoioDocumento4 páginasHilário Franco - Utopias Medievais - ApoiofábioAinda não há avaliações
- A Paranoia by Matos, Júlio De, 1857-1923Documento98 páginasA Paranoia by Matos, Júlio De, 1857-1923Gutenberg.orgAinda não há avaliações
- Machado, Antonio Alberto. O Direito e A Ética Do AbsurdoDocumento21 páginasMachado, Antonio Alberto. O Direito e A Ética Do Absurdochri_olimpoAinda não há avaliações
- Catarse Com DiaDocumento13 páginasCatarse Com DiaEscipión AníbalAinda não há avaliações
- Loucura-A Terceira Margem Do RioDocumento10 páginasLoucura-A Terceira Margem Do RioRosa Do SertãoAinda não há avaliações
- Arcadismo - Lista de AtividadeDocumento6 páginasArcadismo - Lista de AtividadeAnny Chaan :3Ainda não há avaliações
- Prova MaiasDocumento5 páginasProva MaiasRenaldo Mazaro Jr.Ainda não há avaliações
- Gregorio de Matos Poemas Escolhidos Aula ExpoenteDocumento7 páginasGregorio de Matos Poemas Escolhidos Aula Expoentejcgdl1Ainda não há avaliações
- As theocracias litterarias Relance sobre o estado actual da litteratura portuguezaNo EverandAs theocracias litterarias Relance sobre o estado actual da litteratura portuguezaAinda não há avaliações
- A Sinfonia da Vida: Diálogos que uma Pandemia EscreveuNo EverandA Sinfonia da Vida: Diálogos que uma Pandemia EscreveuAinda não há avaliações
- Sobre Ontens 2015 v1Documento409 páginasSobre Ontens 2015 v1RevistasAinda não há avaliações
- A Teoria Da Melancolia em Walter Benjamin - Tereza de Castro CalladoDocumento14 páginasA Teoria Da Melancolia em Walter Benjamin - Tereza de Castro CalladoSamaraMarquesAinda não há avaliações
- AGAMBEN Giorgio - EstanciasDocumento14 páginasAGAMBEN Giorgio - EstanciaspilinpezAinda não há avaliações
- Apolo e Dioniso Arte, Filosofia e Crítica Da Cultura Do Primeiro Nietzsche - Marcio Benchimol BarrosDocumento168 páginasApolo e Dioniso Arte, Filosofia e Crítica Da Cultura Do Primeiro Nietzsche - Marcio Benchimol BarrosTúlio Madson Galvão100% (1)
- A Arte Moderna - Fidelino de FigueiredoDocumento50 páginasA Arte Moderna - Fidelino de FigueiredoGustavo S. C. Merisio100% (1)
- Desconcerto Do Mundo para AlunosDocumento13 páginasDesconcerto Do Mundo para AlunosMarcia NunesAinda não há avaliações
- Michel Deguy - HISTÓRIA, POESIA RITMODocumento12 páginasMichel Deguy - HISTÓRIA, POESIA RITMOLittlejecaAinda não há avaliações
- Artigo Melancolia DURER PDFDocumento12 páginasArtigo Melancolia DURER PDFMárcia SanttosAinda não há avaliações
- Constantin Nóica - As Seis Doenças Do Espírito HumanoDocumento128 páginasConstantin Nóica - As Seis Doenças Do Espírito HumanoThomazPerroni100% (5)
- Frei Luis de Sousa PDFDocumento16 páginasFrei Luis de Sousa PDFDuarte LeitãoAinda não há avaliações
- FINKELKRAUT, Alain-A Derrota Do PensamentoDocumento76 páginasFINKELKRAUT, Alain-A Derrota Do PensamentoRicardo Cita Triana100% (1)
- Apols História Da Literatura e Literatura BrasileiraDocumento5 páginasApols História Da Literatura e Literatura BrasileiracristinaAinda não há avaliações
- Mística e Antimística, Simbolismo e Crítica LiteráriaDocumento20 páginasMística e Antimística, Simbolismo e Crítica LiteráriaMaiara RangelAinda não há avaliações
- Canetti o Teatro TerrívelDocumento192 páginasCanetti o Teatro Terrívelcuriango100% (1)
- Arcadismo em PortugalDocumento4 páginasArcadismo em Portugalpedrindopc4Ainda não há avaliações
- Resenha Homem NuDocumento4 páginasResenha Homem NumbasquesAinda não há avaliações
- Ana Chiara - em Carne Viva PDFDocumento15 páginasAna Chiara - em Carne Viva PDFturibionis100% (1)
- João Vasconcelos, Análise Social, Número 167, Volume XXXVIII, 2003, Pág.1-7Documento7 páginasJoão Vasconcelos, Análise Social, Número 167, Volume XXXVIII, 2003, Pág.1-7sofia_borges_8Ainda não há avaliações
- PAULA JR, Haroldo. O Papel Do Coro Na T.G. em NietzscheDocumento10 páginasPAULA JR, Haroldo. O Papel Do Coro Na T.G. em Nietzscheplatiny8Ainda não há avaliações
- Suicidio de Paul LafargueDocumento5 páginasSuicidio de Paul LafarguejoallanAinda não há avaliações
- Cólica Nefrética em Crianças e Adolescentes - Diretrizes para o Diagnóstico e TratamentoDocumento9 páginasCólica Nefrética em Crianças e Adolescentes - Diretrizes para o Diagnóstico e TratamentoFábio Yutani KosekiAinda não há avaliações
- 09 GengivoestomatiteDocumento2 páginas09 GengivoestomatiteFábio Yutani KosekiAinda não há avaliações
- 30 01 02Documento1 página30 01 02Fábio Yutani KosekiAinda não há avaliações
- Apostila-Aprenda JaponêsDocumento114 páginasApostila-Aprenda JaponêsDaniella Segato Canato86% (14)
- Síndrome de CushingDocumento2 páginasSíndrome de CushingFelipe LepreAinda não há avaliações
- ARTAUD-NIETZSCHE-DELEUZE Dobras Da CruelDocumento26 páginasARTAUD-NIETZSCHE-DELEUZE Dobras Da CruelJoana LeviAinda não há avaliações
- Wole Soyinka - O Quarto EstágioDocumento19 páginasWole Soyinka - O Quarto EstágiowandersonnAinda não há avaliações
- Arquivo Programas de Disicplinas 2023.1 10 - 02 - 23Documento63 páginasArquivo Programas de Disicplinas 2023.1 10 - 02 - 23Lilian DacorsoAinda não há avaliações
- Teoria Da Tragédia de Schiller e o Nascimentod A Tragédia de NietzscheDocumento20 páginasTeoria Da Tragédia de Schiller e o Nascimentod A Tragédia de Nietzschec-evosAinda não há avaliações
- Nietzsche o Apolíneo e Dionisíaco - Slide - 3BDocumento12 páginasNietzsche o Apolíneo e Dionisíaco - Slide - 3BBrenda FiorinnAinda não há avaliações
- Apaschoal,+5 +Artigo+-+EdmilsonDocumento24 páginasApaschoal,+5 +Artigo+-+EdmilsonCéliaBenvenhoAinda não há avaliações
- Espinosa e Nietzsche Conhecimento Como ADocumento24 páginasEspinosa e Nietzsche Conhecimento Como AJackson RODRIGUES FERREIRAAinda não há avaliações
- Hegel - Baquico - Ritmo - KathrynDocumento31 páginasHegel - Baquico - Ritmo - KathrynWilliam PanicciaAinda não há avaliações
- Monografia Elsa David Agosto 2009Documento51 páginasMonografia Elsa David Agosto 2009Alda Maria Abreu100% (1)
- Aprender A ViverDocumento16 páginasAprender A ViverJoao VitorAinda não há avaliações
- Dionisio Contra o Crucificado. MetanóiaDocumento18 páginasDionisio Contra o Crucificado. MetanóiaLeonardo Araújo OliveiraAinda não há avaliações
- Tese - Jean - NARRATIVAS TERRIFICANTES - o Trgico em Rubem Fonseca Loureno MuDocumento160 páginasTese - Jean - NARRATIVAS TERRIFICANTES - o Trgico em Rubem Fonseca Loureno MuPedro FortunatoAinda não há avaliações
- O Limite Do Encantamento Do MundoDocumento6 páginasO Limite Do Encantamento Do MundoSílvia Lemes AguiarAinda não há avaliações
- Fernanda Keli Pereira Rev Arte PsicanáliseDocumento139 páginasFernanda Keli Pereira Rev Arte PsicanáliseLauro CaracasAinda não há avaliações
- O Apolíneo e o Dionisíaco Na Dança ContemporâneaDocumento5 páginasO Apolíneo e o Dionisíaco Na Dança ContemporâneaDavidson XavierAinda não há avaliações
- Danças Dionisicas e Isadora DuncanDocumento6 páginasDanças Dionisicas e Isadora DuncanTatiana CorrêaAinda não há avaliações
- Evichiantunes, 3 - Antonio Edmilson PaschoalDocumento20 páginasEvichiantunes, 3 - Antonio Edmilson PaschoalCamila AlenquerAinda não há avaliações
- CR - História Da Filosofia Contemporânea IIDocumento202 páginasCR - História Da Filosofia Contemporânea IIHemerson Zwang PereiraAinda não há avaliações
- 04) Filosofia ContemporâneaDocumento32 páginas04) Filosofia ContemporâneaHenrique MachadoAinda não há avaliações
- QUESTAO Nietzsche p1Documento4 páginasQUESTAO Nietzsche p1João Pedro Gonçalves GarciaAinda não há avaliações
- A Estetica de NietzscheDocumento7 páginasA Estetica de NietzscheJair Oliveira Duarte JúniorAinda não há avaliações
- Nietzsche Alem Do Homem e Idealidade Estetica 9788566045390 - CompressDocumento198 páginasNietzsche Alem Do Homem e Idealidade Estetica 9788566045390 - CompressMaria AparecidaAinda não há avaliações
- UntitledDocumento22 páginasUntitledHugo RezendeAinda não há avaliações
- Deleuze - 1976 - Nietzsche e A FilosofiaDocumento291 páginasDeleuze - 1976 - Nietzsche e A FilosofiaMarcos Goulart50% (2)
- Niilismo e Estetica de Horror em Lovecraft e NietzscheDocumento11 páginasNiilismo e Estetica de Horror em Lovecraft e NietzscheRoberto GodoyAinda não há avaliações
- 48d206 PDFDocumento196 páginas48d206 PDFMarcelo SoaresAinda não há avaliações
- Performance e Ritualização PDFDocumento421 páginasPerformance e Ritualização PDFDenise BandeiraAinda não há avaliações
- O Apolineo e o Dionisiaco Paradoxos CompDocumento18 páginasO Apolineo e o Dionisiaco Paradoxos CompJouberto HeringerAinda não há avaliações
- Diálogos Entre Nietzsche e Artaud em O Nascimento Da Tragédia e O Teatro e Seu DuploDocumento82 páginasDiálogos Entre Nietzsche e Artaud em O Nascimento Da Tragédia e O Teatro e Seu DuploIsadora PetryAinda não há avaliações
- Tese - Genealogia NietzscheDocumento248 páginasTese - Genealogia NietzscheRobeilton De Souza GomesAinda não há avaliações