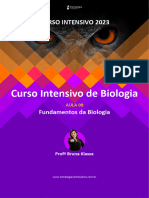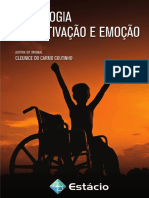Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Projetos Político-Pedagógico de Cursos de Pedagogia
Projetos Político-Pedagógico de Cursos de Pedagogia
Enviado por
Marcélia Amorim CardosoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Projetos Político-Pedagógico de Cursos de Pedagogia
Projetos Político-Pedagógico de Cursos de Pedagogia
Enviado por
Marcélia Amorim CardosoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
DOI 10.21573/vol40n12024.135701
Projetos político-pedagógico de cursos de
pedagogia do RS e as ciências da educação
Political-pedagogical projects for pedagogy
courses in RS and educational sciences
Proyectos político-pedagógicos de cursos
de pedagogía de RS y las ciencias de la educación
MARA REJANE VIEIRA OSÓRIO1
Resumo: Este trabalho problematiza a relação entre projetos político-pedagógicos (PPP) e as ciências
da educação em cursos de pedagogia de universidades públicas do RS. O estudo foi de natureza
qualitativa com análise documental e discursiva. Como inspiração teórica, a pesquisa seguiu pistas
de estudos foucaultianos e sobre currículo. Argumento que o afastamento das ciências da educação,
nos PPP, pode indicar um deslocamento das concepções humanistas, progressistas, para concepções
utilitárias e pragmáticas.
______________________________________________________________________________
Palavras-chave: curso de pedagogia; projeto político-pedagógico; ciências da educação.
Abstract: This study problematizes the relationship between political-pedagogical projects (PPP) and the sciences of
education in pedagogy courses in public Universities of RS. The study was qualitative with documentary and discursive
analysis. As theoretical inspiration, the research followed clues from Foucauldian and curriculum studies. It argues
that the distancing of educational sciences, in the PPP, may indicate a shift from humanist, progressive conceptions to
utilitarian and pragmatic conceptions.
______________________________________________________________________________
Keywords: pedagogy course; political-pedagogical project; science of education.
Resumen: Este trabajo problematiza la relación entre proyectos político-pedagógicos (PPP) y las ciencias de la educación
en cursos de pedagogía de universidades públicas de RS. El estudio fue de naturaleza cualitativa con análisis documental
y discursiva. Como inspiración teórica, la investigación se inspiró teóricamente en los estudios foucaultianos y curriculares.
Argumento que la lejanía de las ciencias de la educación, en los PPP, puede indicar un desplazamiento de las concepciones
humanistas y progresistas hacia concepciones utilitaristas y pragmáticas.
______________________________________________________________________________
Palabras clave: curso de pedagogía; proyecto político-pedagógico; ciencias de la educación.
1 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3703-5226. Universidade Federal de Pelotas. Programa de Pós-
Graduação em Educação. Pelotas, RS, Brasil.
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 1
Mara Rejane Vieira Osório
INTRODUÇÃO
Desde a Resolução CNE/CP n.1 de 2006 (Diretrizes curriculares para os
cursos de pedagogia), o desafio tem sido a busca por formar, ao mesmo tempo,
pedagogos e docentes. Contudo, passadas quase duas décadas desta política curricular,
é preciso que nos questionemos sobre como a formação tem sido incentivada em
cursos de Pedagogia. A intenção deste texto é contribuir com o campo de estudos
sobre formação docente e currículo e chamar a atenção para a urgente necessidade
de pensarmos os cursos de Pedagogia. Recentemente, vivenciamos um enorme
perigo de que os cursos de pedagogia fossem reformados sem amplas discussões
e desconsiderando os estudos realizados por intelectuais brasileiros que, de longa
data, tratam das temáticas política curricular, currículos, formação docente etc.
Este texto, com base em estudo realizado no Rio grande do Sul entre os anos
de 2015 e 2019, trata de problematizar textos curriculares de cursos de pedagogia e
sua relação com as ciências da educação. O objetivo é problematizar a relação entre
Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cursos de pedagogia de universidade públicas
gaúchas e as ciências básicas da educação (sociologia, filosofia, psicologia, história),
áreas do conhecimento que têm sido apontadas como um dos indicativos para se
alcançar uma densa formação teórico-prática na formação para as docências. O
estudo mostrou, no conjunto dos PPP estudados, o fortalecimento da formação
genérica e ampliada e a fecundidade de organizações curriculares pautadas pela
dispersão, pulverização e superficialidade dos componentes curriculares, que
compõem os diferentes PPP. Nesta condição, as ciências da educação aparecem
de modo bastante reduzido em relação aos demais componentes e à carga horária
total de cada um dos PPP. Argumento que o afastamento das ciências da educação
nos PPP de cursos de pedagogia, vigentes até 2019, podem ser um indicativo do
deslocamento de concepções humanistas, progressistas para concepções utilitárias
e pragmáticas, que influenciaram, sutilmente, tanto as políticas curriculares quanto
os currículos de cursos de pedagogia nas últimas décadas.
DO PONTO DE PARTIDA
A discussão, aqui, parte de três elementos: da pesquisa “Formação Inicial
de Professores em Universidades do Estado do Rio Grande do Sul (RS): Currículos,
Formas de Profissionalismo e Identidades Docentes”, que foi financiada pelo
Edital Universal MCTI/CNPQ 2014; do relatório final desta mesma pesquisa; e
do E-book “Currículos e profissionalidades docentes: licenciaturas em Pedagogia e
Matemática em universidades públicas gaúchas” (GARCIA, OSÓRIO, FONSECA,
2020). O estudo foi de natureza qualitativa com análise documental e discursiva. O
2 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
corpus investigativo conjugou 16 cursos de pedagogia de 7 universidades públicas
do RS (UFSM, UERGS, UFRGS, UFFS, FURG, UFPel, UNIPAMPA) e computou
a análise de 9 Projetos Político-Pedagógicos. As diferenças numéricas são de duas
ordens: algumas universidades ofertam cursos diurnos e noturno com o mesmo
PPP e outras não; uma universidade tem 6 cursos que funcionam com o mesmo
PPP como pode ser observado no quadro a seguir.
Quadro 1 - Caracterização dos projetos político - pedagógicos analisados
Carga horária Município
IES Ano de criação Turno Mesorregiões
total Sede
UFSM 2007 3.465 Diurno Centro Ocidental
Santa Maria
UFSM 2007 3.225 Noturno Rio-grandense
São Francisco Nordeste
2008 3.435 Noturno de Paula Rio-grandense
Turmas no
Matutino, Metropolitana de
2008 3.435 Osório
Vespertino Porto Alegre
Noturno
2008 3.435 Noturno Cruz Alta
UERGS
Turmas Noroeste Rio-
São Luiz grandense
2008 3.435 Diurno Gonzaga
Noturno
Matutino
2008 3.435 Noturno Alegrete Sudoeste Rio-
Noturno grandense
2008 3.435 Noturno Bagé
Metropolitana de
UFRGS 2007 3.205 Diurno Porto Alegre Porto Alegre
Noroeste Rio-
UFFS 2010 3.345 Noturno Erechim grandense
Diurno
FURG 2016 3.250 Rio Grande
Noturno
Diurno Sudeste Rio-
UFPel 2012 3.214 Pelotas
Noturno grandense
UNIPAMPA 2009 3.330 Diurno
Jaguarão
UNIPAMPA 2015 3.220 Noturno
Fonte: Quadro elaborado pelo GEDEB2.
2 Grupo de estudos sobre docência e educação básica: currículo, políticas e profissionalização docente.
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 3
Mara Rejane Vieira Osório
É importante observar que foi escolhido o documento em vigência, em cada
instituição, entre os anos de 2015 a 2016. Assim, o estudo lidou com documentos
elaborados em diferentes anos. É sabido dessa complexidade do trabalho com
documentos desse tipo, pois o currículo é, extremamente, dinâmico e sujeito a
mudanças e reformas constantes. No entanto, as mudanças não pareceram muito
diferentes dos demais currículos vigentes em outras instituições.
Como inspiração teórica, a pesquisa foi alimentada pelos estudos de
Foucault (1995, 1995, 2004, 2008a, 2008b), de Ball (1994, 2002, 2012, 2014), de Rose
(1998, 2011, 2012) de Veiga-Neto (2011), que se dedicam às questões do discurso,
da política, da governamentalidade, das práticas de subjetivação em associação com
estudos que tratam de currículo (Corazza, 2001; Silva, 1999a, 1999b; Goodson,
2003; Lopes e Macedo, 2011; Gallo, 2012).
Com estas pistas, tenho compreendido os documentos oficiais (Política
curricular e PPP), que orientam as licenciaturas, como tecnologias discursivas
envolvidas no governo das condutas docentes. Como Ball (2013, p. 25), assumo que
Políticas não podem ser entendidas somente como textos, para se compreender
como elas constituem as subjetividades docentes, precisam ser entendidas como
discursos. Discursos políticos “[...] produzem quadros de sentido e obviedade com
os quais a política é pensada, falada e escrita. Textos políticos são definidos no
interior desse quadro que constrange, mas nunca determina todas as possibilidades
de ação” (Ball, 2006, p. 44). Se consideramos políticas como discursos, então temos
que olhar para elas não somente como “[...] pré-eminentemente, declarações sobre
a prática – o modo como as coisas poderiam ou deveriam ser – donde se baseiam,
derivam, declarações sobre o mundo – sobre o modo como as coisas são” (Ball,
2006, p. 26), mas também como práticas em si mesmas3.
Considerar as políticas curriculares e os próprios PPP como tecnologias
discursivas consiste em abordá-los como fruto de negociações complexas entre
forças econômicas, sociais, políticas e culturais, que disputam, localmente e
globalmente, significados e representações para as condutas docentes. Currículo,
nesta perspectiva, não é compreendido como mero reflexo ou imposição das
esferas econômicas e/ou dos projetos políticos oficiais. Ele é, na maioria das vezes,
o resultado de intensas disputas e negociações entre interesses diversos e, muitas
vezes, antagônicos.
3 “[...] práticas que formam, sistematicamente, os objetos de que falam [...]. Discursos não são sobre
objetos; não identificam objetos, os constituem e, na prática de os constituírem, ocultam sua própria invenção”,
enfatiza Ball citando Foucault (2002).
4 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
Nesta perspectiva, os discursos trazidos pela política curricular criam e
forjam demandas e desejos que tentam se tornar, universalmente, reconhecidas e
legitimadas no âmbito da formação docente. Ao serem considerados como oficiais,
esses discursos marcam a posição de poder e diferenciação que ocupam. Como
argumentei em outro lugar,
Oficial não é apenas uma palavra, mas um conjunto de significados que remetem à
autoridade, à legalidade, à ordem, à norma, à lei – à obediência. Enquanto discurso
autorizado, no âmbito do espaço político e por sua natureza institucional, o discurso
oficial é uma tecnologia de poder que diz, fala, movimenta, legaliza, institucionaliza
e estrutura um campo de ação para a formação de professores (Osório, Garcia,
2011, p. 121)
A política curricular, também, vai além de seus textos (parecer, resolução).
Para se fazer ouvida e reconhecida, precisa movimentar outros artefatos (consultorias,
especialistas, guias explicativos, normas, prazos) e, assim, movimentam toda uma
economia de ações e discursos montadas para atingir seus objetivos (Silva,1999a, p.
11).
Enquanto respostas institucionais, da leitura da política e de sua tradução
negociada localmente, resulta um texto que, por via, institui autoridade pedagógica:
aponta os objetivos, o formato, os saberes, os conhecimentos, que constituem
o percurso formativo; estabelece o que conta como competências, como
sujeito desejado; institui formas de regulação, hierarquias e forja mentalidades e
sensibilidades docentes. Assim,
A política curricular, metamorfoseada em currículo, efetua [...] um processo de
inclusão de certos saberes e de certos indivíduos, excluindo outros. [...] o currículo,
também, fabrica os objetos de que fala: saberes, competências, sucesso, fracasso. O
currículo [...], também, produz os sujeitos aos quais fala, os indivíduos que interpela.
O currículo estabelece diferenças, constrói hierarquias, produz identidades (Silva,
1999a, p. 12)
Portanto, incluir, excluir, recortar, ampliar, conhecimentos e saberes em
PPP, não é apenas uma ação neutra; pelo contrário, é uma ação política marcada por
esperanças de regulação, poder, governo e controle de condutas. Ou seja, um PPP é
sempre desejante, quer produzir tipos de docentes e é estruturado para essa tarefa.
Do ponto de vista do tratamento das informações contidas nos textos
curriculares (PPP), contamos com contribuições da literatura sobre profissionalização
do magistério e saberes docentes, que chama a atenção, sob diferentes perspectivas,
para a complexidade e a natureza distinta dos conhecimentos e dos saberes que os
professores mobilizam no exercício da docência (Tardif, 2014; 1998; Pimenta, 1997;
Shulman, 1987). Tardif (2014, p. 60), por exemplo, salienta que a noção de saber tem
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 5
Mara Rejane Vieira Osório
um sentido amplo, que “engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades
(ou aptidões) e atitudes dos docentes” relativos a diversos fenômenos que conjugam
o trabalho dos professores. Como diz o autor, os saberes docentes não se restringem
a um conhecimento especializado ou de natureza técnica científica; mais do que
isto, englobam uma diversidade de objetos, questões e problemas, relacionados ao
saber, ao saber-ser e ao saber-fazer dos professores em diferentes circunstâncias do
seu trabalho. Sabe-se que a identidade profissional docente se constrói a partir de
fontes sociais e culturais bastante diversas e através de experiências heterogêneas,
que antecedem e ultrapassam o curso de formação inicial e a licença obtida com o
ele. São saberes que podem ser distinguidos tanto do ponto de vista epistemológico,
quanto do ponto de vista de seus lugares sociais e fontes de aquisição. Esses estudos
contribuíram para a definição do modelo de análise, que utilizamos no estudo, e
segmentação das matrizes curriculares dos cursos que investigamos. Como as fontes
de informações são os currículos escritos dos cursos, o foco da análise foram os
componentes curriculares, os conteúdos e conhecimentos analisados através das
ementas e caracterização das disciplinas.
Na definição das categorias com que analisamos as matrizes curriculares
dos cursos investigados, foram, especialmente, úteis as investigações desenvolvidas
por Pimenta (2014) e Gatti e Nunes (2009). A primeira autora investiga os cursos
presenciais de Pedagogia do estado de São Paulo, tendo como foco uma análise dos
conteúdos que são privilegiados pelos currículos desses cursos e as características
gerais dos mesmos. A segunda investigação, seguindo um modelo de análise
muito semelhante ao primeiro, analisa as licenciaturas presenciais em Pedagogia,
Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas de um conjunto de cursos
representativos de diversas regiões brasileiras, caracterizando, também, do ponto
de vista da natureza desses conhecimentos e seu papel formativo, os conteúdos
da formação inicial dos futuros professores. Tendo por referência os modelos de
análises destes estudos, como mostrado a seguir, foi desenvolvido um quadro para
a classificação dos componentes curriculares.
6 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
Quadro 2 - Modelo analítico
Componentes Descrição
Relativos às ciências sociais e humanas que têm, na educação, um campo de
Ciências Básicas da Educação aplicação particular (Sociologia, Filosofia, História, Psicologia)
Relativos à organização dos sistemas educacionais, da escola e do currículo do
Sistemas educacionais, ponto de vista político, jurídico e administrativo. Engloba, também, os conteúdos
organização escolar, currículo e pertinentes à compreensão da organização do trabalho escolar e docente, das
profissão docente condições de seu exercício e do seu desenvolvimento enquanto um trabalho de
(SEOEPD) tipo profissional no ocidente moderno e no Brasil.
Correspondem ao domínio dos programas escolares, dos conteúdos curriculares
Tratamento Didático-Pedagógico da educação básica, informados pelos objetivos, pelos métodos de ensino e
dos conteúdos definidos, hoje em dia, pelas hierarquias superiores dos sistemas escolares ou
(TDPC) pelos especialistas das diversas disciplinas.
Preparam os docentes para o trabalho específico com as diferentes modalidades
Modalidades e níveis de ensino de ensino e o trabalho com segmentos determinados da população escolar.
Aproximação com o cotidiano do Discutem ou colocam estudantes em contato com instituições de ensino da
espaço escolar Educação Básica.
Pesquisa e TCC Relativos às metodologias ou realização de pesquisas
Outros saberes Componentes que ampliam e/ou qualificam a formação docente
Fonte: GEDEB.
A partir desta matriz, das ementas, da organização e análise das informações,
com auxílio do software NVivo4, foi possível observar o fortalecimento da formação
genérica e ampliada, que é incentivada nos documentos estudados, e a fecundidade
de organização curricular pautada pela dispersão, pulverização e superficialidade
dos componentes curriculares que compõem os diferentes PPP. Entre tantas
opções possíveis para problematizações destes PPP, neste texto, o foco será,
como anteriormente anunciado, para o lugar ocupado pelas ciências da educação
(Sociologia, Filosofia, Psicologia, História) nos documentos estudados.
PROJETOS POLÍTICO - PEDAGÓGICOS E A POSIÇÃO DAS
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
[...]. Porque a ausência de teoria, de analise teórica da realidade, que a linguagem
do aparelho encobre, engendra monstros. O slogan e o anátema conduzem a
todas as formas de terrorismos. Eu não sou o bastante ingênuo para pensar que
a existências de uma análise rigorosa e complexa da realidade social seja suficiente
para evitar todas as formas de desvio terrorista ou totalitário. Mas estou certo de
que a falta de uma tal análise deixa o campo livre para isto. É por isso que, contra o
anticientificismo que está em moda e que delicia os novos ideólogos, eu defendo a
ciência e mesmo a teoria quanto ela consegue uma melhor compreensão do mundo
social [...] (Bourdieu, 1983, p. 15).
4 NVivo é um programa de computador para análise qualitativa - um recurso que permite, entre outras
coisas, a organização, o planejamento, e a análises de informações de uma pesquisa.
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 7
Mara Rejane Vieira Osório
O objetivo, aqui, não é tratar da natureza das ciências da educação no
campo da formação docente, mas provocar o pensamento sobre o lugar que
ocupam, atualmente, nos cursos de pedagogia do RS, os conhecimentos que tais
ciências produzem. Iniciei com palavras de Bourdieu para dizer que essa concepção
sobre as ciências da educação e sua contribuição para a formação docente tem
sido colocada em xeque no movimento dos discursos que, mais fortemente, nesta
atualidade, pressiona, de diferentes formas, por formações aligeiradas, capacitadas
para o treinamento de habilidades, competências. Este parece ser um alerta, que nos
chama ao trabalho intelectual e para discussões urgentes.
Considerando o estudo realizado, os gráficos, apresentados, as seguir, no
quadro 3, são exemplares de como ciências da educação aparecem nos PPP de
cursos de pedagogia.
Quadro 3 - Distribuição dos componentes curriculares
nos projetos político - pedagógicos
Fonte: GEDEB.
8 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
As imagens mostram que, no conjunto dos diferentes componentes
curriculares, o percentual das ciências básicas da educação é bastante resumido em
relação à carga horária total dos cursos investigados: UFRGS (16%), FURG (10%),
UFFS (15%), UFPel (9%), UFSM D (14%), UFSM N (15%), UNIPAMPA D (20%),
UNIPAMPA N (13%), UERGS (16%). O privilégio, em termos de carga horária,
tem sido para aqueles componentes mais vinculados com experiências práticas ou
de vivências no ambiente escolar. Os conhecimentos relacionados ao tratamento
didático-pedagógico dos conteúdos escolares (TDPC) são de maior foco em quase
todas as matrizes analisadas: UFFS (21%), UFSM D e N (29%), UFPel (35%),
UNIPAMPA D (23%), UNIPAMPA N (32%), UERGS (32%). As exceções são
os PPP da UFRGS e da FURG, cujo foco maior é para componentes que buscam
manter maior aproximação com a escola (respectivamente 31% e 33%), mas que,
em muitos aspectos, estão associados com o mesmo viés; portanto, somados estes
dois componentes ocupam, de forma variável, a maior parte da carga horária total
dos cursos de Pedagogia.
Importante dizer que os cursos de Pedagogia têm sido, desde sua criação
em 1939, disputados e negociados em diferentes aspectos: identidade do curso
(bacharelado, licenciatura, magistério); perfil de sujeitos a serem formados (bacharel/
técnico em educação, docente, especialista, bacharel e docente, docência alargada
etc.); tipos de saberes e conhecimentos que devem compor a formação; lugar onde
a formação deve acontecer (escolas, institutos, universidades) etc. Sirvo-me deste
apontamento para dizer que as diferentes identidades requeridas para os cursos de
pedagogia só podem ser lidas nos traçados das racionalidades em que estão situadas
e pelos arranjos que as enclausuram por um tempo (Fonseca, 2010).
O resultado das negociações, embates, críticas, sobre diferentes propostas
para os cursos de Pedagogia, reverberou na política curricular Resolução CNE/CP
N. 1, de 15 de maio de 2006 (Scheibe, 2007). O curso, então, passou a ter caráter
de licenciatura plena, mas um tipo de licenciatura que se diferencia das demais, pois
toma corpo um tipo de curso que tem objetivo de unir licenciatura e bacharelado,
focando na concepção de docência como base para a formação destes profissionais.
Assim, em uma mesma estrutura e organização curricular, foi associado o
preparo para o exercício de funções de magistério na Educação Infantil e nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos, nos Cursos de
Ensino Médio (modalidade Normal), de Educação Profissional na área de serviços e
apoio escolar e em outras áreas, nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos
(Resolução CNE/CP, 2006). A política enfatizou, ainda, que pedagogas/os devem
estar aptas/os a atuarem com ética e compromisso na construção da justiça e da
igualdade social; a compreenderem, cuidarem e educarem e alfabetizarem crianças;
a terem competências profissionais nas múltiplas linguagens (Língua Portuguesa,
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 9
Mara Rejane Vieira Osório
Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física), de forma
interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano; a
relacionarem as novas tecnologias de informação e comunicação aos processos
didáticos-pedagógicos; a promoverem e facilitarem as relações de cooperação entre
escola, família e comunidade, identificando problemas socioculturais e propondo
soluções para as realidades complexas identificadas no sentido de contribuir para
uma sociedade mais inclusiva e igualitária (ou seja, assumir compromisso social);
a exercerem funções de gestão e pesquisa, desenvolvendo e avaliando projetos
e programas em ambientes escolares e não escolares; a trabalharem de forma
cooperativa e interdisciplinar; a promoverem a interculturalidade, a inclusão,
o respeito à diversidade e à diferença etc. Além disso, pedagogas/os devem ser
autônomas/os, flexíveis e capazes de se responsabilizarem pelo seu próprio
desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizadas/os e com disposição
para serem eternos aprendizes. Importante lembrar que muitos são, também, os
chamamentos e as obrigatoriedades legais para que se incluam, nos currículos das
licenciaturas, temas como educação étnico-raciais, educação ambiental, educação
para os direitos humanos etc.
Essa política curricular colocou em andamento as possibilidades para
uma formação generalista (de caráter ampliado, aberto, expandido, alargado), que
alimentou a produção dos PPP dos cursos de pedagogia. As respostas institucionais
mostram as tentativas de ajustar os cursos com pinceladas de componentes
curriculares, que correspondam às demandas da política curricular instituída. O
resultado foi que, para indicativos genéricos e dispersos, produziram-se respostas
variadas, mas, igualmente, genéricas e dispersas.
Por este caminho, as ciências da educação, de longa data, defendidas
como componentes importantes para a formação intelectual e pedagógica dos
professores, perdem espaço nos currículos dessas licenciaturas. A formação em
pedagogia parece enfrentar um duplo dilema: por um lado, tem, historicamente,
reivindicado as ciências da educação como importantes elementos formativos; por
outro, tem limitado os conhecimentos destas disciplinas científicas nos currículos.
De longa data, principalmente, pelos esforços da ANFOPE5, ecoaram discursos
que traziam esperanças por uma formação focada na sólida formação teórica e
interdisciplinar; na união teoria-prática em todas as experiências formativas, na
formação de profissionais comprometidos social, política, ética e pedagogicamente.
Como dar conta desta formação se as arquiteturas curriculares caminham para um
processo que anda na contramão destes princípios?
5 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
10 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
Estes indicativos, fortalecidos pela política curricular e pelas leituras
institucionais, colocam-nos uma questão importante: será que, via PPP, a formação
em cursos de pedagogia está sendo deslocada das esperanças formativas de caráter
humanista e progressistas para matizes de viés utilitarista/pragmática? A pergunta
não é neutra certamente. Como afirmou Goodson (2003), criar um currículo é uma
forma de inventar uma tradição; então “[...] o currículo escrito, sob qualquer forma
– cursos, de estudos, manuais, roteiros ou resumos – é um exemplo perfeito sobre
a invenção de tradição”.
A ideia de conhecimento é fundamental, pois, nesta atualidade, a noção
de conhecimento foi deslocada do sentido de algo durável, permanente, que pode
ser apropriado de uma vez, insubstituível, puro acabado, adquirido, conservado
e seguro, para uma concepção de conhecimento como volátil, flexível, fugaz,
efêmero, de tempo determinado, pronto para o uso imediato e único, incompleto,
descartável. A concepção de conhecimento como conservado exigia a interação
entre um conjunto amplo e variado de conhecimentos, que se complementavam
com a continuidade da maturidade intelectual; já, para o conhecimento inacabado,
o excesso de conhecimento é desperdício, pois as atuais mudanças exigem, sempre,
um novo conhecimento para resolver as coisas imediatamente. Não é necessário
acumular conhecimento, mas saber procurar por ele quando for necessário resolver
um problema emergente.
Como os estudos sobre currículos têm mostrado, conhecimento não é
categoria desinteressada que, simplesmente, aparece ou desaparece nos espaços
curriculares (Ferreira, 2013; Goodson, 2003; Silva, 1999b). Conhecimento é uma
categoria disputada no bojo das relações de poder-saber-governo (dos outros e do si),
que se estabelecem numa determinada racionalidade ou numa governamentalidade6,
como ensinado por Foucault. A opção por um ou outro conhecimento está
relacionado, diretamente, com a relação de utilidade que ocupam em determinado
momento e tempo.
Este problema de afastamento da formação associada às ciências da
educação não é um problema, especificamente, dos cursos de Pedagogia no RS ou
do Brasil. Por exemplo, no texto Qui veut la mort des sciences de l’éducation?7, Meirieu,
6 Foucault usou a noção de governamentalidade de diferentes formas em seus estudos, mas tenho usado
o termo no sentido mais amplo: como uma racionalidade política (um ethos) que inclui modos de ser e estar no
mundo e um conjunto práticas (estratégias, técnicas, tecnologias), que investem em ajustar condutas conforme as
esperanças vigentes. Importante salientar que, embora, as ações estatais tenham papel fundamental no conjunto
da arquitetura de uma governamentalidade, as práticas de governo não se limitam ao Estado. Isso quer dizer que
o Estado é um veículo, entre outros, por onde o poder de governo é conduzido, racionalizado, programado e
calculado (Foucault,2008b).
7 Quem quer a morte das ciências da educação?
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 11
Mara Rejane Vieira Osório
Altet, Lenoir e Perrenoud, (2014) tecem radicais críticas a retirada da licenciatura
em ciências da educação da Universidade de Nantes. Para Perrenoud, neste mesmo
texto,
Num país cujos últimos inquéritos internacionais evidenciam a medianíssima
eficiência do sistema educativo e o seu carácter tão desigual, formar professores tão
ignorantes das ciências da educação não é suicídio? [...]. Enquanto as ciências e as
profissões da educação não estiverem mais associadas, as primeiras permanecerão
frágeis, as segundas menos efetivas do que poderiam e deveriam ser. (s/p)
Já, Lenoir salienta que “Uma escolha tão dramática não é inocente”. Ele
sugere que o afastamento das ciências da educação é associado ao que chama de o
mal do utilitarismo8, com foco econômico, que tem sido o “vetor do comportamento
humano”. Em outro texto (“O utilitarismo de assalto às ciências da educação”), na
mesma linha anterior, Lenoir (2016) sugere que “O que é [...] banido da universidade,
é a concepção mesma de universidade...”, e continua, dizendo que
... as ciências da educação constituem um campo pluri-inter-disciplinar autônomo e
insubstituível que tem por função produzir saberes específicos sobre esta realidade
altamente complexa, fazendo apelo ao cruzamento de disciplinas científicas
[...]. Excluí-las da forma¬ção universitária [...] é dificultar o prosseguimento de
estudos superiores no campo. É, igualmente, levar à cegueira todos aqueles que, na
universidade e fora dela, se debruçam sobre suas múltiplas facetas, pois a função
primeira das ciências da educação é considerar de maneira crítica e distanciada
a relação estreita que existe entre as funções empírica e operacional, fazendo da
teoria a mediação central, essencial e indispensável entre estas duas funções para
lhes dar um sentido. (Lenoir, citando Lenoir, 2014, p. 164)
Os intelectuais demonstram preocupações com o fortalecimento dos
valores utilitários em detrimento dos conhecimentos plurais, sociais, políticos,
econômicos, culturais, que constituem as ciências da educação.
Zeichner (2013), discutindo políticas de formação de professores nos
Estados Unidos, retoma a temática da prática que, segundo ele, não é nova e que
reaparece, de diferentes formas, em diferentes tempos no país. Segundo Zeichner,
“No atual clima político dos Estados Unidos, há uma forte pressão para reduzir
a duração dos cursos de formação de professores e eliminar qualquer coisa que
não seja ‘imediatamente útil’ aos novos professores”. O autor mostra exemplos de
estudos que, inclusive, apontam conhecimentos da história, filosofia e sociologia da
educação “como [...] disciplinas ‘não essenciais’ ao currículo”.
8 Para Lenoir (2016, p. 159) “...utilitarismo remete à busca de interesses individuais que enfatizam a
dimensão econômica como único vetor do comportamento humano e que sua difusão prioriza valores mercantis
que chegam as universidades desvirtuando-as de suas finalidades humanas e sociais”
12 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
O recuo da teoria avança, também, nas próprias pesquisas educacionais.
Tratando de teoria no sentido dos seus estudos no campo educacional, Ball, no
artigo “Intelectuais ou técnicos? O papel indispensável da teoria nos estudos
educacionais”, adverte,
[...] Lamento e maldigo a ausência de teoria e a defendo como uma forma de
proteger os estudos educacionais de si mesmos. [...] é importante notar que o
abandono da teoria nos estudos educacionais tem paralelo em outras áreas do
campo educacional [...] na retirada do trabalho teórico dos cursos de formação
de educadores e na concomitante redução dessa formação ao desenvolvimento de
habilidades e competências e ao treinamento para o trabalho (Ball, 2011, p. 92).
Incluo outras questões. Uma, que estudantes de licenciaturas clamam por
mais práticas, por vezes, acusando seus cursos de serem muito teóricos. Em 2013,
inclusive, estudantes de pedagogia de uma universidade sulina colocaram cartazes
em suas unidades onde se lia “mais prática e menos textão”. Outra questão é sobre
a relação entre saberes e trabalho docente. Tardif (2014), por longa data, através de
suas pesquisas, argumentou que os professores, não tendo controle sobre a maioria
dos saberes assumidos como sendo necessários para sua formação e trabalho
(disciplinares, curriculares, profissionais – ciências de educação e pedagógico – e
experienciais), tendem a valorizar mais os saberes experienciais por serem os que
eles mais dominam e produzem no dia a dia escolar. Esses parecem ser, também,
exemplos que favoreceram esse movimento, que intensifica a crença no viés
praticista e utilitarista que se esparrama atualmente.
Diante da vasta literatura disponível, poder-se-ia listar inúmero exemplos
desta recusa às teorias na contemporaneidade; especialmente, as das ciências humanas
e sociais. Mas, como provocação, quero argumentar que esse movimento pode ser
compreendido como um sintoma do deslocamento entre governamentalidade
democrática e governamentalidade neoliberal. Os estudos sobre currículo (Goodson,
2003; Silva, 1999a, 1999b; Lopes e Macedo, 2011) têm-nos avisado que a opção por
um ou outro componente curricular (chamado, usualmente, de disciplina) equivale
a sua utilidade e valorização numa determinada época.
As ciências sociais e humanas, assim como o discurso de sua importância
para escolarização e para a formação docente, expandem-se nos movimentos e
crenças que engendram a governamentalidade democrática e a criação de seu sujeito
específico: o cidadão. Como coloca Gallo,
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 13
Mara Rejane Vieira Osório
A maquinaria de uma governamentalidade democrática pressupõe uma sociedade
civil organizada, em face do Estado; uma economia que re¬gula as trocas e garante
a potência do mercado, com geração de riquezas; uma população, que é alvo das
ações preventivas do Estado nos mais varia¬dos âmbitos, na garantia de sua
qualidade de vida; a garantia da segurança dessa população como dever do Estado;
e, por fim, a liberdade e a não sub¬missão dos cidadãos como valor fundamental
dessa organização social e política [...] (Gallo, 2012b, p. 59).
O conhecimento científico das ciências humanas ganha força, nos espaços
formativos, como uma fonte de conhecimento, capacitada para preparar os sujeitos
para viverem na sociedade democrática. Gallo (2012b) argumenta que a Lei de
obrigatoriedade da Sociologia e da Filosofia nos currículos escolares, em 2008, é
um exemplo dos esforços para a constituição do sujeito cidadão. As concepções
de docentes intelectuais, reflexivos, pesquisadores são inspirados, mesmo que por
diferentes fontes, pelo desejo da formação e ação cidadãs. Atualmente, esse modo
de vida tem sido confrontado por outra racionalidade e outras esperanças para a
formação e o trabalho docente. Remeto-me à onda das reformas neoliberais, que, há
mais de três décadas, vem aproximando educação com as perspectivas de mercado
econômico em escala mundial.
As grandes esperanças e promessas anunciadas pelos ideais reformistas,
geralmente, associam melhoria e modernização da formação docente como meios
de atingir uma imaginada qualidade da Educação Básica. Assim, a complexidade das
condições que envolvem a educação vem sendo limitada ao quadro de um constante
movimento de re(formação) docente (Ball, 2002, 2012, 2013; “Osório”, 2010, 2014;
“Osório, Garcia”, 2011; Oliveira et al, 2019, 2020; Saraiva e Souza, 2020; Sorensen
e Robertson, 2020; Silva, Gomes, Motta, 2020; Santos e Diniz, 2016; Frangella e
Dias, 2018; Dias, 2016). O foco das políticas reformistas tem-se voltado, de forma
central, para o governo das condutas docentes, de modo a produzir um tipo de
docência auto-empreendedora, docentes responsáveis por si mesmos, ajustadas às
demandas em jogo; assim, por este viés, seguindo Foucault (2003, p. 16), vai-se
construindo uma armadura para conduta docente.
Nesta condição, aos docentes cabe a responsabilidade de dar conta,
principalmente, de habilidades e competências técnicas, alcançando um nível de
performatividade e produtividade profissional, retratada pelo desempenho dos
estudantes que são, sistematicamente, medidos por meio de políticas de avaliação
padronizadas (Dias, 2016, 2021; Hypólito, 2010). Produzir a conduta desse novo
sujeito parece ser o desafio que a educação superior enfrenta atualmente - um
processo vinculado a novos modos de se tornar um docente útil e rentável para
essa sociedade. Com isso, não é estranho que, no fluxo de políticas oficiais, as
licenciaturas sejam objeto, também, de constantes reformas curriculares.
14 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
Parece que as disputas entre um caminho humanista (fortalecido pelas
esperanças de uma sociedade pautada pelo ethos da democracia como modo de vida)
e outro de viés econômico (pautada pelo consumo, concorrência e individualismo
como referência para tudo) tem-se configurado como um deslocamento mais
próspero do segundo em relação ao primeiro, também, no espaço da formação
docente. As disputas e negociações em torno do curso de pedagogia e o modo
como reverberam nas DCN de 2006 parecem, mesmo com outras intenções, ter
contribuído para com esse processo ao tentarem ajustar as diferentes demandas,
interesses e preocupações. Assim, é possível observar os traçados e marcadores de
outros caminhos para a formação docente; um deles, a redução do componente das
ciências da educação, tem sido efetivado, sutilmente, no próprio arranjo curricular
dos cursos de formação. Os indicativos são de que não tem sido suficiente afirmar
que os currículos devem seguir o caminho de uma densa formação pautada pelas
esperanças humanistas e sociais.
O afastamento das ciências da educação parece ser um indicativo não
somente do que se tem chamado de desintelectualização docente. O que está em
jogo, mais do que isto, é a produção de outros conhecimentos reconhecidos como
importantes para formação de docências (ativas, revolvedoras de problemas imediatos,
cumpridoras de exigências funcionais ou instrumentais). Como argumentou Ball
(2005), essas mudanças são sintomas mais visíveis, agora, do deslocamento da
concepção de profissionais autênticos (aquele que tem por base compromissos e
valores humanistas, éticos e morais, que permitem julgamento crítico e reflexível)
para a concepção de profissionais reformados (“...aquele que responde aos
requisitos externos e a objetivos específicos, equipados com métodos padronizados
e adequados para qualquer eventualidade”; um profissional concebido como um
técnico habilitado por um conjunto de competências específicas e utilitárias). Ball
(2005, 2013) tem alertado que “... o profissionalismo só tem significado dentro da
moldura de uma racionalidade substantiva” e Sobe (2019) salienta que a formação
docente tem sido, globalmente, deslocada da responsabilidade de “produzir a boa
sociedade, para produzir a boa economia9”
Em suma, não colocar em discussão este afastamento das ciências da
educação é deixar o espaço aberto, no curso de Pedagogia, para ser, cada vez mais,
preenchido pelo viés de um currículo treinamento para habilidades e competências
apenas técnicas, práticas e do saber fazer fazendo. Meu argumento não é de
reivindicação ou defesa das ciências da educação como o remédio para uma pretensa
salvação dos cursos de pedagogia. A intenção é colocar esse aspecto como um alerta
sobre duas questões: política curricular e PPP são tecnologias discursivas de controle
9 Grifos da autora
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 15
Mara Rejane Vieira Osório
e governo que interferem, em conjunto com tantas outras tecnologias, naquilo que
os professores devem ser e como devem agir em seus espaços de trabalho; aquilo
que consta num currículo aponta desejos e interesses para um tipo de formação e
de sujeito a ser formado.
Então, são duas questões a serem observadas e problematizadas: a política
curricular e o conjunto de discursos que aponta como orientação e base para os
currículos e como as instituições formativas respondem aos ideais destas políticas.
Como defendido por Ball (1994, 2013), uma política não tem o poder de definir
como será lida, compreendida, resolvida em contextos diferentes, mas ela cria
demandas, que exigem respostas aos seus apelos. Então, as respostas importam; elas
não são neutras, simples, naturais; ao contrário, mesmo com as melhores intenções,
elas criam arquiteturas e sentidos para a produção de identidades e subjetividades
docentes.
REFERÊNCIAS
BALL, Stephen J.; et al. A constituição da subjetividade docente no Brasil: um
contexto global. Revista Educação em Questão, Natal, v. 46, n. 32, mai/ago,
2013. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/
view/5114/4098 . Acesso em: 12 maio 2023.
BALL, Stephen J. Educação Global S.A: novas redes políticas e o imaginário
neoliberal. Ponta Grossa: UEPG, 2014.
BALL, Stephen J. Reforma educacional como barbárie social: economismo e o
fim da autenticidade. Práxis Educativa, v. 7, n. 1, jan./jun, 2012. Disponível em:
https://revistas.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/4003/2807 .
Acesso em: 22 jun. 2023.
BALL, Stephen J. Intelectuais ou técnicos? O papel indispensável da teoria nos
estudos educacionais. In: BALL, Stephen J, MAINARDES, Jefferson (Orgs).
Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011, p.78 – 99.
BALL, Stephen J. Profissionalismo, gerencialismo e perfomatividade. Cadernos de
pesquisa, v. 35, n. 126, set/dez. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/
cp/a/sHk4rDpr4CQ7gb3XhR4mDwL/?lang=pt . Acesso em: 10 jun. 2023.
16 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
BALL, Stephen J. Reformar escola/reformar professores e os terrores da
performatividade. Revista Portuguesa de Educação. V.15, n. 002, 2002.
Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37415201 . Acesso em: 10
jun. 2023.
BALL, Stephen J. What is policy? Texts, trajectories and toolboxes. In Education
reform: A critical and post-structural approach. Buckingham, England: Open
University Press, 1994, p. 14 -27.
BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Editora Marco Zero: RJ, 1983.
CORAZZA, Sandra. O Que quer um currículo? Pesquisa pós – críticas em
educação. São Paulo, Vozes, 2001.
DIAS, Rosanne Evangelista. Desempenho regulando a docência nas políticas de
currículo. Cadernos de Educação, Pelotas, n. 65, 2021. Disponível em: https://
periodicos.ufpel.edu.br/index.php/caduc/article/view/21126 . Acesso em: 10 jun.
2023.
DIAS, Rosanne Evangelista. Políticas de currículo e avaliação para a docência
no espaço Iberoamerico. Práxis Educativa, Ponta Grossa, p. 590-604, v. 11, n.
3, set./dez. 2016. Disponível em: http://www.revistas2.uepg.br/index.php/
praxiseducativa . Acesso em: 10 jun. 2023.
FERREIRA, Márcia Serra. História do currículo e das disciplinas: apontamentos
de pesquisa. In: FAVACHO, André Márcico Picanço; PACHECO, José Augusto;
SALES, Shierlei Rezende (Orgs). Currículo: conhecimento e avaliação –
Divergências e tensões. Curitiba, PR: CRV, 2013, p. 75 – 88.
FONSECA, Maria Verônica Rodrigues da, A Construção sócio-histórica do
currículo de Pedagogia na UFRJ (1980/90): entre influências externas e internas,
2010. Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 1, n. 1, p. 117-135, jan./jun. 2010.
Disponível em: https://periodicos.ufv.br/educacaoemperspectiva/article/
view/6448 . Acesso em: 01 jun. 2023.
FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolitica. 1.ed. São Paulo: Martins
Fortes, 2008b.
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 17
Mara Rejane Vieira Osório
FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. 1.ed. São Paulo: Martins
Fortes, 2008a.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2004.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. 10.ed. Rio
de Janeiro: Graal, 2003.
FOUCAULT, Michel Sobre a genealogia da ética: uma revisão do trabalho. Michel
Foucault entrevistado por Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow. In: DREYFUS, H.
& RABINOW P. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do
estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Graal, 1995, p. 253 - 291.
FOUCAULT, Michel. O sujeito e o Poder. In: DREYFUS, H. & RABINOW P.
Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da
hermenêutica. Rio de Janeiro: Graal, 1995, p. 231 – 249.
FRANGELLA, Rita de Cássia Prazeres e DIAS, Rosanne Evangelista. Os sentidos
de docência na BNCC: efeitos para o currículo da educação básica e da formação/
atuação de professores. Educação Unisinos, volume 22, número 1, jan/ mar,
2018. Disponível em: https://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/
view/edu.2018.221.01 . Acesso em: 01 jun. 2023.
GALLO, Silvio. Do currículo como máquina de subjetivação. In: FERRAÇO,
Carlos Eduardo e CARVALHO, Janete Magalhães (Orgs). Currículos, pesquisas,
conhecimentos e produção de subjetividades. Petrópolis, RJ: DP et Alii; Vitória,
EP: Nupec/UFES, 2012a, p. 203 – 217.
GALLO, Silvio. Governamentalidade democrática e ensino de filosofia no Brasil
contemporâneo. Cadernos de Pesquisa, Fundação Carlos Chagas, v. 42, p. 48-
64, 2012b. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-15742012000100005 .
Acesso em: 01 jun. 2023.
18 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
GARCIA, Maria Manuela Alves; OSÓRIO, Mara Rejane Vieira e FONSECA; Márcia
Souza da. (Orgs). Currículos e profissionalidades docentes: licenciaturas em
Pedagogia e Matemática em universidades públicas gaúchas. São Leopoldo: Oikos.
2020. Disponível em: https://oikoseditora.com.br/files/Curr%C3%ADculos%20
e%20profissionalidades%20docentes%20-%20E-book.pdf . Acesso em: 15 jan.
2021.
GATTI, Bernardete; NUNES, Marina Muniz (Orgs.). Formação de professores
para o Ensino Fundamental: estudo de currículos das licenciaturas em Pedagogia,
Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas. São Paulo: Departamento de
Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, 2009.
GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. Petrópolis: Vozes, 2003.
HYPOLITO, Álvaro Moreira. Politicas curriculares: estado e regulação. Educação
& Sociedade, v. 31, n. 113, out-dez, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1590/
S0101-73302010000400015 . Acesso em: 01 jun. 2023.
LENOIR, Yves. O utilitarismo de assalto às ciências da educação. Educar em
revista, Curitiba, n. 61, jul./set, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/
er/a/h9XWGkZVJ4V36PXmFBrksqN/?lang=pt&format=pdf . Acesso em: 15
mar. 2022.
LOPES, Alice Casimiro e MACEDO, Elizabeth. Teorias de currículo. São Paulo:
Cortez, 2011.
MEIRIEU, P.; ALTET, M.; LENOIR, Y.; PERRENOUD, P. Qui veut la mort des
sciences de l’éducation? Le café pédagogique, v. 13, jan. 2014. Diponível em:
https://www.cafepedagogique.net/2014/01/25/qui-veut-la-mort-des-sciences-de-
l-education-2/ . Acesso em: 25 ago. 23.
OLIVEIRA, Dalila Andrade. Políticas itinerantes de educação e a reestruturação
da profissão docente: o papel das cúpulas da OCDE e sua recepção no contexto
brasileiro. Currículo sem Fronteiras, v. 20, n. 1, jan./abr. 2020. Disponível em:
https://www.curriculosemfronteiras.org/vol20iss1articles/oliveira.html . Acesso
em: 01 jun. 2023.
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 19
Mara Rejane Vieira Osório
OLIVEIRA, Dalila Andrade et all (Orgs). Políticas educacionais e a reestruturação
da profissão do educador: perspectivas globais e comparativas. Petrópolis: RJ:
Vozes, 2019.
OSÓRIO, Mara Rejane Vieira. UAB e a casa do professor: enredando condutas
docentes nas teias da formação ao longo da vida. In: Mara Rejane Vieira Osório;
Vanise dos Santos Gomes. (Org.). Formação, experiência docente e práticas
escolares. 1ed. Rio Grande: Editora da FURG, 2014.
OSÓRIO, Mara Rejane Vieira; GARCIA, Maria Manuela Alves. Universidade
Aberta do Brasil (UAB): remodelando o território da formação de professores.
Cadernos de Educação (UFPel), v. 38, 2011. Disponível em: https://periodicos.
ufpel.edu.br/index.php/caduc/article/view/1545 . Acesso em: 22 jul. 23.
OSÓRIO, Mara Rejane Vieira. Formação de professores na Universidade
Aberta do Brasil: discursos que governam. Tese de doutorado. Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel),
2010.
PIMENTA, Selma Garrido. Os cursos de licenciatura em pedagogia: fragilidades
na formação inicial do professor polivalente. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 43, n. 1,
jan./mar., 2017. Diponível em: https://doi.org/10.1590/S1517-9702201701152815
. Acesso em: 01 jun. 2023.
PIMENTA, Selma Garrido. A formação de professores para a Educação Infantil
e para os anos iniciais do Ensino Fundamental: análise do currículo dos cursos
de Pedagogia de instituições públicas e privadas do Estado de São Paulo. XVII
ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, 2014, Fortaleza.
Diponível em: https://www.researchgate.net/publication/333404672_A_
formacao_de_professores_para_a_Educacao_Infantil_e_para_os_anos_iniciais_
do_Ensino_Fundamental_analise_do_curriculo_dos_cursos_de_Pedagogia_de_
instituicoes_publicas_e_privadas_do_Estado_de_Sao_Paulo . Acesso em: 01 jun.
2023.
PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores – saberes da docência e
identidade do professor. Nuances. São Paulo, n. 104, set. 1997. Disponível em:
https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/50/46 . Acesso em:
01 jun. 2023.
20 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Projetos político-pedagógico de cursos de pedagogia do RS e as ciências da educação
ROSE, Nikolas. Governando o presente: gerenciamento da vida econômica, social
e pessoal. São Paulo: Paulus, 2012.
ROSE, Nikolas. Inventando nossos selfs: psicologia, poder e subjetividade.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
ROSE, Nikolas. Governando a alma: a formação do eu privado. In: SILVA, T.
Tadeu (org). Liberdades Reguladas: a pedagogia construtivista e outras formas de
governo do eu. Rio de Janeiro, Vozes, 1998, p. 30 - 45.
SANTOS, Lucíola Licínio de Castro Paixão e DINIZ‑PEREIRA, Júlio Emílio.
Tentativas de padronização do currículo e da formação de professores no brasil.
Cad. Cedes, Campinas, v. 36, n. 100, set./dez., 2016. Disponível em: https://doi.
org/10.1590/CC0101-32622016171703 . Acesso em: 01 jun. 2023.
SARAIVA, Ana Maria Alves e SOUZA, Juliana de Fátima. A formação docente
e as organizações internacionais: uma agenda focada na performatividade dos
professores e na eficácia escola. Currículo sem Fronteiras, v. 20, n. 1, jan./abr.
2020. Diponível em: https://www.curriculosemfronteiras.org/vol20iss1articles/
saraiva-souza.html . Acesso em: 01 jun. 2023.
SCHEIBE, L. (2011). Diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia: uma solução
negociada. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação.
ANPAE, v. 23. n.2, 2007. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/rbpae/article/
view/19129 . Acesso em: 01 jun. 2023.
SHULMAN, L. S. Knowledge and teaching: foundations of the new reform.
Harvard Educational Review, 57 (1), p. 1- 22, 1987.
SILVA, Amanda Moreira da, GOMES, Thayse Ancila Maria de Melo, MOTTA,
Vânia Cardoso da. Formas e tendências de precarização do trabalho docente e os
influxos do empresariamento na educação. Cadernos de Educação, n.63, jan/jun,
2020. Diponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/caduc/article/
view/17406 . Acesso em: 01 jun. 2023.
SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade: Uma introdução às teorias do
currículo. BH: Autêntica, 1999a.
Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024 21
Mara Rejane Vieira Osório
SILVA, Tomaz Tadeu. O Currículo como fetiche: A poética e a política do texto
curricular. BH: Autêntica, 1999b.
SOBE, Noah W. Prefácio. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade et al (Orgs). Políticas
educacionais e a reestruturação da profissão do educador: perspectivas globais
e comparativas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019, p. 17- 19.
SORENSEN, Tore e ROBERTSON, Susan L. O Programa da OCDE TALIS:
enquadrando, medindo e vendendo professores de qualidade. Currículo
sem Fronteiras, v. 20, n. 1, jan./abr., 2020. Disponível em: https://www.
curriculosemfronteiras.org/vol20iss1articles/sorensen-robertson.html . Acesso
em: 01 jun. 2023.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17. ed. Petrópolis:
Vozes, 2014.
VEIGA-NETO, Alfredo. Governamentalidades, neoliberalismo e educação. In:
BRANCO, Guilherme Castelo e VEIGA-NETO, Alfredo (Orgs). Foucault
filosofia e política. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 37 – 52.
ZEICHNER, Kenneth M. Políticas de formação de professores nos Estados
Unidos: como e por que elas afetam vários países no mundo. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2013.
SOBRE OS AUTORES
______________________________________________________________________________
Mara Rejane Vieira Osório
Bacharel e licenciada em Ciências Sociais. Mestre e doutora em Educação. Professora da
Faculdade de Educação da UFPel, atuando na graduação e no Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE). Líder do Grupo de estudos sobre docência e educação básica: currículo,
políticas e profissionalização docente (GEDEB).
E-mail: mareos@gmail.com
Recebido em: 21/09/2023
Aprovado em: 21/10/2023
22 Rev. Bras. Polít. Adm. Educ. - v. 40, n. 01 e 135701 - 2024
Você também pode gostar
- Ao148 4Documento2 páginasAo148 4Felipe Borges Cunha100% (1)
- APL e CS No Vale Do Jaguari - RSDocumento124 páginasAPL e CS No Vale Do Jaguari - RSJose Elenilson CruzAinda não há avaliações
- A História Da Matemática Na Educação Básica: Contribuições À Formação Docente E À Prática PedagógicaDocumento89 páginasA História Da Matemática Na Educação Básica: Contribuições À Formação Docente E À Prática PedagógicaGeslane FigueiredoAinda não há avaliações
- TCC Silvia Baracho FinalDocumento47 páginasTCC Silvia Baracho FinalJuliana de OliveiraAinda não há avaliações
- Licenciamento Ambiental de CemiterioDocumento20 páginasLicenciamento Ambiental de CemiterioIsabela CristinaAinda não há avaliações
- Proposta de Guia para A Restauração de Campos Nativos No Sul Do Brasil - COMUNICADO-TECNICO-394-EMBRAPADocumento16 páginasProposta de Guia para A Restauração de Campos Nativos No Sul Do Brasil - COMUNICADO-TECNICO-394-EMBRAPALeonardo UrruthAinda não há avaliações
- HGP5 Caderno de Atividades 1Documento7 páginasHGP5 Caderno de Atividades 1claudia luisa goncalves do valeAinda não há avaliações
- Certificado Adriane 2°Documento2 páginasCertificado Adriane 2°Andreia GularteAinda não há avaliações
- EcoCampo 2010Documento325 páginasEcoCampo 2010Nayane OrtegaAinda não há avaliações
- Formaarquiteturaanima Martins 2018Documento124 páginasFormaarquiteturaanima Martins 2018Marcos FormigaAinda não há avaliações
- Modelo Plano de EnsinoDocumento2 páginasModelo Plano de EnsinoDankaerte Maduro Da Silva VianaAinda não há avaliações
- 33087-Texto Do Artigo-98611-1-10-20180102Documento21 páginas33087-Texto Do Artigo-98611-1-10-20180102Daniele SouzaAinda não há avaliações
- 02-Exercício Perspectiva Cavaleira IsométricaDocumento3 páginas02-Exercício Perspectiva Cavaleira IsométricaIorhanaAinda não há avaliações
- 02-Exercício Perspectiva Cavaleira IsométricaDocumento3 páginas02-Exercício Perspectiva Cavaleira IsométricaIorhanaAinda não há avaliações
- Diagnóstico e Monitoramento Dos Resíduos Sólidos Como Instrumento de Educação Ambiental Nas Praias Das Éguas e de Jacuecanga, Angra Dos Reis - RJDocumento64 páginasDiagnóstico e Monitoramento Dos Resíduos Sólidos Como Instrumento de Educação Ambiental Nas Praias Das Éguas e de Jacuecanga, Angra Dos Reis - RJAna claraAinda não há avaliações
- Res01 - Resenha-01Documento5 páginasRes01 - Resenha-01Ana Flávia FerreiraAinda não há avaliações
- 1983 2117 Epec 16 01 00171Documento17 páginas1983 2117 Epec 16 01 00171MarlianeAinda não há avaliações
- Krigagem Indicadora Compactação Do SoloDocumento7 páginasKrigagem Indicadora Compactação Do SoloLucas LuzziAinda não há avaliações
- EM3 - Fichas de Avaliacao - PreviewDocumento26 páginasEM3 - Fichas de Avaliacao - PreviewJoel Gomes100% (3)
- MONOGRAFIA UmaReflexãoSobreDocumento23 páginasMONOGRAFIA UmaReflexãoSobreLaura Dela SáviaAinda não há avaliações
- CHAGAS (2019) Os Primeiros Passos para A Implementação Da ReformaDocumento295 páginasCHAGAS (2019) Os Primeiros Passos para A Implementação Da ReformaJanaina Raquel CogoAinda não há avaliações
- Ementa Primeiro Periodo Filosofia UflaDocumento2 páginasEmenta Primeiro Periodo Filosofia UflaLuana SaraivaAinda não há avaliações
- RBCastanho TES01 PRTDocumento89 páginasRBCastanho TES01 PRTdmacamo6Ainda não há avaliações
- MD Enscie III 2012 74Documento28 páginasMD Enscie III 2012 74eduardaAinda não há avaliações
- ANEXO III Residência PedagogicaDocumento15 páginasANEXO III Residência PedagogicaRubensVilhenaFonsecaAinda não há avaliações
- Historiacursoespecializacao Araujo 2023Documento82 páginasHistoriacursoespecializacao Araujo 2023Arthur SilvaAinda não há avaliações
- Educateca de Estudo Do Meio 3Documento5 páginasEducateca de Estudo Do Meio 3OdiliaSilva100% (1)
- Edital 06.2023-PPGL Resultado Preliminar 23.1Documento1 páginaEdital 06.2023-PPGL Resultado Preliminar 23.1Fabricio Paiva MotaAinda não há avaliações
- Universidade Federal de Santa Catarina Programa de Pós-Graduação em Engenharia AmbientalDocumento133 páginasUniversidade Federal de Santa Catarina Programa de Pós-Graduação em Engenharia AmbientalLOGAN LOGANAinda não há avaliações
- Transtorno Do EspectroDocumento31 páginasTranstorno Do EspectroJoicy OliveiraAinda não há avaliações
- Cap Livro Fernando Vesz Final Rev2908Documento20 páginasCap Livro Fernando Vesz Final Rev2908anttonella figueredoAinda não há avaliações
- Florianópolis, SC 2008Documento116 páginasFlorianópolis, SC 2008Rock NbecokAinda não há avaliações
- EM3 Educateca PreviewDocumento186 páginasEM3 Educateca PreviewJoel Gomes100% (1)
- PDF 20230706 184240 0000Documento13 páginasPDF 20230706 184240 0000Railine LimaAinda não há avaliações
- Unesp: As Relações Socias para Jean PIAGET: Implicações para A Educação EscolarDocumento73 páginasUnesp: As Relações Socias para Jean PIAGET: Implicações para A Educação Escolargreg_carvalho2361Ainda não há avaliações
- Administrador, A18-54413final (2) PdfaDocumento15 páginasAdministrador, A18-54413final (2) Pdfabx79qrv7hkAinda não há avaliações
- Diss VarelaDocumento200 páginasDiss VarelaSuely CunhaAinda não há avaliações
- Artigo PRUDUTIVIDADE Alisson2013rbeeDocumento31 páginasArtigo PRUDUTIVIDADE Alisson2013rbeeFaquira AntonioAinda não há avaliações
- TCC Mayra ConclusoDocumento91 páginasTCC Mayra ConclusoSAULO AUGUSTO DE MORAESAinda não há avaliações
- 2016 AmauriPaixaoDosSantos TCCDocumento35 páginas2016 AmauriPaixaoDosSantos TCCJady Rafaela Caitano dos ReisAinda não há avaliações
- Edufu A Trajetoria Da Cana-De-Acucar No Brasil 2020 Ficha CorrigidaDocumento272 páginasEdufu A Trajetoria Da Cana-De-Acucar No Brasil 2020 Ficha CorrigidaPaola Andrea Ramírez PeñaAinda não há avaliações
- 000904723Documento187 páginas000904723Janderson GonçalvesAinda não há avaliações
- Ação - Simulado Aprova BrasilDocumento7 páginasAção - Simulado Aprova BrasilMiriam NunesAinda não há avaliações
- Revisa Goiás 9º Ano LP e Mat Março - Abril - Professor PDF Linguística Pronome 2Documento1 páginaRevisa Goiás 9º Ano LP e Mat Março - Abril - Professor PDF Linguística Pronome 2leo dripAinda não há avaliações
- MarianaLS DISSERTDocumento197 páginasMarianaLS DISSERTVitor AssisAinda não há avaliações
- TCC Dissertacao Deise Dagnese-01!12!21Documento123 páginasTCC Dissertacao Deise Dagnese-01!12!21Aron SousaAinda não há avaliações
- 8º Ano 2º BimestreDocumento2 páginas8º Ano 2º BimestreKeilane Oliveira52Ainda não há avaliações
- Texto 10Documento14 páginasTexto 10Oscar Raimundo dos JúniorAinda não há avaliações
- Dissertação Gitana Nebel PPGEA-FURG 2014Documento206 páginasDissertação Gitana Nebel PPGEA-FURG 2014sabrina.arqueologiadoconflitoAinda não há avaliações
- R - T - Shirley Aparecida Dos Santos BortolottoDocumento229 páginasR - T - Shirley Aparecida Dos Santos BortolottoFERNANDA DOS SANTOS VAZAinda não há avaliações
- Ensino Por Investigação - Contribuições de Um Curso de Formação Continuada para A Prática de Professores de Ciências Naturais e BiologiaDocumento127 páginasEnsino Por Investigação - Contribuições de Um Curso de Formação Continuada para A Prática de Professores de Ciências Naturais e BiologiaMarcelo HenriqueAinda não há avaliações
- Cartografiainclusivauso Santos 2022Documento136 páginasCartografiainclusivauso Santos 2022Gilson LimaAinda não há avaliações
- Prova Estudos Linguisticos 2017Documento2 páginasProva Estudos Linguisticos 2017Vagner SouzaAinda não há avaliações
- Lays Martins Amaral 2019 PDFDocumento118 páginasLays Martins Amaral 2019 PDFNária CruzAinda não há avaliações
- Dissertacao CenariosMudancaUsoDocumento140 páginasDissertacao CenariosMudancaUsothigomartAinda não há avaliações
- Projeto - Aulas de CampoDocumento7 páginasProjeto - Aulas de CampoLeonardoAinda não há avaliações
- As Motivações e Memórias Dos Licenciandos Do Curso de Licenciatura em Ciências Da Natureza No IFRS - Campus Porto AlegreDocumento17 páginasAs Motivações e Memórias Dos Licenciandos Do Curso de Licenciatura em Ciências Da Natureza No IFRS - Campus Porto AlegrePaula EliasAinda não há avaliações
- Contribuições Das Estratégias Do Conceito Passive House para Edificações Energeticamente Mais Eficientes Na Região Sul-BrasileiraDocumento374 páginasContribuições Das Estratégias Do Conceito Passive House para Edificações Energeticamente Mais Eficientes Na Região Sul-BrasileiraEgonVettorazziAinda não há avaliações
- Cocar A2Documento20 páginasCocar A2Arnaldo NogaroAinda não há avaliações
- 2 Tese Jorge Ramineli - 2021 - TESE - Educação para A Sustentabilidade em CursDocumento211 páginas2 Tese Jorge Ramineli - 2021 - TESE - Educação para A Sustentabilidade em CursMarcelo Bruno QueirozAinda não há avaliações
- A Responsabilidade Socioambiental em Instituições Públicas: um estudo de casoNo EverandA Responsabilidade Socioambiental em Instituições Públicas: um estudo de casoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Desenvolvimento Da Competência em InformaçãoDocumento28 páginasDesenvolvimento Da Competência em InformaçãoMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Atores Privados, "Soluções" Do MercadoDocumento27 páginasAtores Privados, "Soluções" Do MercadoMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Configurações Explicativas Do Desenvolvimento Da ResiliênciaDocumento22 páginasConfigurações Explicativas Do Desenvolvimento Da ResiliênciaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- O Gestor Escolar Na Transição Da Pandemia para Pós-PandemiaDocumento26 páginasO Gestor Escolar Na Transição Da Pandemia para Pós-PandemiaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- O Design Thinking Como Método de Pesquisa CientíficaDocumento18 páginasO Design Thinking Como Método de Pesquisa CientíficaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Aplicação Da Lei Rouanet N. 8.313. 91Documento28 páginasAplicação Da Lei Rouanet N. 8.313. 91Marcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Celebrando O Legado de Ana Maria de Almeida Camargo: Uma Vida Dedicada Aos SaberesDocumento3 páginasCelebrando O Legado de Ana Maria de Almeida Camargo: Uma Vida Dedicada Aos SaberesMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Transparência, Accountability e GovernanceDocumento33 páginasTransparência, Accountability e GovernanceMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Potenciais Da Coleção Infantil Sobre Meio AmbienteDocumento26 páginasPotenciais Da Coleção Infantil Sobre Meio AmbienteMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- O Papel Das Capacidades de TIDocumento31 páginasO Papel Das Capacidades de TIMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Acolhimento e Receptividade Pela Mediação Da InformaçãoDocumento36 páginasAcolhimento e Receptividade Pela Mediação Da InformaçãoMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- BNC - Formação de ProfessoresDocumento25 páginasBNC - Formação de ProfessoresMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Ética e EstéticaDocumento22 páginasÉtica e EstéticaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Avaliação em Educação InfantilDocumento20 páginasAvaliação em Educação InfantilMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Os Museus VirtuaisDocumento22 páginasOs Museus VirtuaisMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- A Política e A AdministraçãoDocumento20 páginasA Política e A AdministraçãoMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Habilidades Matemáticas Na Resolução de ProblemasDocumento23 páginasHabilidades Matemáticas Na Resolução de ProblemasMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- De Questões Do Enem A AulasDocumento26 páginasDe Questões Do Enem A AulasMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- A Teoria Crítica Da TecnologiaDocumento22 páginasA Teoria Crítica Da TecnologiaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Formas de Alienação Presentes Na Atividade de Formação Inicial de Professores de MatemáticaDocumento25 páginasFormas de Alienação Presentes Na Atividade de Formação Inicial de Professores de MatemáticaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Cultivando A MemóriaDocumento6 páginasCultivando A MemóriaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Inep Durante A Gestão de Anísio TeixeiraDocumento40 páginasInep Durante A Gestão de Anísio TeixeiraMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- A Cades e Os Exames de SuficiênciaDocumento20 páginasA Cades e Os Exames de SuficiênciaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Produção Acadêmica Sobre Trabalho DocenteDocumento22 páginasProdução Acadêmica Sobre Trabalho DocenteMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Compreensão Estatística de Professores em Formação InicialDocumento20 páginasCompreensão Estatística de Professores em Formação InicialMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Avaliação Ad Hoc em Feiras de MatemáticaDocumento18 páginasAvaliação Ad Hoc em Feiras de MatemáticaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Análise de Redes Sociais Dos Artigos Sobre Educação de Jovens e AdultosDocumento21 páginasAnálise de Redes Sociais Dos Artigos Sobre Educação de Jovens e AdultosMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Por Uma Educação Matemática DesvianteDocumento27 páginasPor Uma Educação Matemática DesvianteMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Um Segundo Turno Entre Leibniz e DescartesDocumento10 páginasUm Segundo Turno Entre Leibniz e DescartesMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- Produção de Videoaulas de MatemáticaDocumento20 páginasProdução de Videoaulas de MatemáticaMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações
- LANDER - Ciências Sociais - Saberes Coloniais e Eurocêntricos PDFDocumento17 páginasLANDER - Ciências Sociais - Saberes Coloniais e Eurocêntricos PDFFelipe RochaAinda não há avaliações
- TCC ProntoDocumento76 páginasTCC ProntoleageoufesAinda não há avaliações
- 02 - O Uso Da Fitoterapia Na Obesidade PDFDocumento8 páginas02 - O Uso Da Fitoterapia Na Obesidade PDFGustavo CaladoAinda não há avaliações
- Joachim Fischer História Dos DogmasDocumento18 páginasJoachim Fischer História Dos DogmasvffinderAinda não há avaliações
- Avaliacao 4 ANODocumento3 páginasAvaliacao 4 ANOAle Maçon RochaAinda não há avaliações
- Trabalho de Emanuel KantDocumento13 páginasTrabalho de Emanuel KantThiago SurianAinda não há avaliações
- 1 W de Estatistica de GitoDocumento4 páginas1 W de Estatistica de GitoAbacar PincheneAinda não há avaliações
- Bio2022 - Intensivo - Fundamentos Da Biologia - BrunaklassaDocumento44 páginasBio2022 - Intensivo - Fundamentos Da Biologia - BrunaklassaCláudia RudnickAinda não há avaliações
- Ciencia e Conhecimento CientificoDocumento5 páginasCiencia e Conhecimento CientificoLourenço LangaAinda não há avaliações
- Trabalho de Psicologia JuridicaDocumento7 páginasTrabalho de Psicologia JuridicaJeanEduardoLimaAinda não há avaliações
- 5 - Ser Humano e o TrabalhoDocumento56 páginas5 - Ser Humano e o TrabalhoPaloma DrummondAinda não há avaliações
- MILIBAND Ralph Estado Sociedade Capitalista Rio Janeiro Zahar 1972 P 11 87Documento86 páginasMILIBAND Ralph Estado Sociedade Capitalista Rio Janeiro Zahar 1972 P 11 87Fernando MorariAinda não há avaliações
- O Universo QuânticoDocumento237 páginasO Universo QuânticoTatiana Souza100% (4)
- Avaliação e Modelo Lógico em SaúdeDocumento5 páginasAvaliação e Modelo Lógico em SaúdeKaline LemosAinda não há avaliações
- O Cinema Autoral - Barthes e FoucaultDocumento13 páginasO Cinema Autoral - Barthes e FoucaultGabriel Braga KalegariAinda não há avaliações
- Matemática para PedagogosDocumento121 páginasMatemática para PedagogosAlan MatosAinda não há avaliações
- 2019 - Dom Bosco - Matemática 1Documento520 páginas2019 - Dom Bosco - Matemática 1Inis RosaAinda não há avaliações
- O Conceito de Inconsciente em Lévi-Straus Revisitado PDFDocumento12 páginasO Conceito de Inconsciente em Lévi-Straus Revisitado PDFSandro NandolphoAinda não há avaliações
- APH - Atendimento Pre HospitalarDocumento3 páginasAPH - Atendimento Pre HospitalarJoel Franco100% (1)
- Motivação LivroDocumento113 páginasMotivação LivroAmanda Jereissati100% (6)
- PascalDocumento82 páginasPascalAguinaldo José de Oliveira100% (1)
- BERBEL - A Problematização e A Aprendizagem Baseada em Problemas PDFDocumento16 páginasBERBEL - A Problematização e A Aprendizagem Baseada em Problemas PDFEdson Neves Jr.Ainda não há avaliações
- DERRIDA, Jacques - O Olho Da UniversidadeDocumento79 páginasDERRIDA, Jacques - O Olho Da UniversidadeJoao Victor SanchesAinda não há avaliações
- Relatorio de Estagio Curso CorretorDocumento9 páginasRelatorio de Estagio Curso CorretorC R. S.Ainda não há avaliações
- Os Números Sagrados Na Tradição Pitagórica MaçônicaDocumento9 páginasOs Números Sagrados Na Tradição Pitagórica MaçônicaEdgard FreitasAinda não há avaliações
- José Carlos Reis. Historia e VerdadeDocumento6 páginasJosé Carlos Reis. Historia e VerdadeArthur RosalvosAinda não há avaliações
- Ovnis e Outros Fenomenos NaturalDocumento80 páginasOvnis e Outros Fenomenos Naturaljef100% (1)
- Aula de Criminologia PDFDocumento202 páginasAula de Criminologia PDFDébora Käfer100% (1)
- Instabilidade Digital: A Preservação e A Memória Da Arte Digital No Contexto ContemporâneoDocumento9 páginasInstabilidade Digital: A Preservação e A Memória Da Arte Digital No Contexto ContemporâneoTadeus MucelliAinda não há avaliações