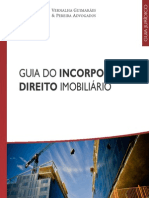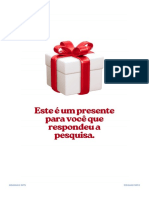Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resumo DaMatta
Resumo DaMatta
Enviado por
Amanda MarinaraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resumo DaMatta
Resumo DaMatta
Enviado por
Amanda MarinaraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CENTRO UNIVERSITRIO UNICURITIBA DIREITO NOTURNO TURMA 1 F
ALINE MANNES JULIANA JOAQUIM THOMASI LARISSA MATIOSKI BRASIL
Carnavais, malandros e heris, Para Uma Sociologia Do Dilema Brasileiro DaMatta, Roberto.
Trabalho apresentado para a disciplina de direito e sociedade, com orientao do professor Guilherme Bauer.
CURITIBA, 2010
O livro comea apresentando uma classificao dos eventos sociais de acordo com a sua ocorrncia. So divididos em eventos cotidianos, e aquele fora do dia-a-dia (festas, bailes, reunies etc.). Esses eventos do dia-a-dia acabam por reunir pessoas de grupos que ocupam o mesmo mbito social. J os eventos fora do dia a dia so feitos para a sociedade e pela sociedade estando enquadrados nas normas e regras sociais, sendo os denominados rituais. DaMatta ainda faz uma subdiviso dos eventos entre formais e informais. Um exemplo utilizado para fazer analise desses tpicos so o carnaval (considerado como informal) e o dia da ptria (considerado formal). Quanto s vestimentas eles se diferenciam pelo significado do papel expresso por cada uma das duas. No caso do Carnaval, as fantasia representam, para Damatta, como a vontade interior do individuo e no carrega consigo o peso da sua funo real. J no caso do dia da ptria, as fardas representam uma hierarquia e o no uso delas no exclui a responsabilidade de sua funo. Quanto aos rituais, no so momentos aparte do cotidiano, e sim, modos de salientar aspectos do mundo dirio. H trs tipos de realizar essa salientaao: reforo (paradas militares), inverso (carnaval) e neutralizao (igreja). Como diz o autor: os rituais seriam, assim, instrumentos que permitem maior clareza as mensagens sociais. O capitulo II apresenta uma forma utilizada para transformar um simples objeto em um smbolo, isso se d atravs do deslocamento, ou seja, quando deslocamos um objeto de seu lugar originrio, este torna-se ento um smbolo. Por exemplo: uma espada quando usada na guerra apenas uma espada, mas quando pendurada em uma parede torna-se um smbolo que caracteriza o dono do ambiente. H ento, duas formas de deslocamento: a peregrinao e a procisso. A primeira nos remete a idia de busca por um fim, como uma cura, beno, salvao, etc. Faz tambm uma generalizao do homem, considerando-os como todos filhos de Deus. J a procisso, os fiis no vo at o santo, e sim, o santo ao passar pelas ruas, vai at os fieis. Diluem-se assim as barreiras entre casa-rua (espao de descanso, intimo, aonde de encontra paz- espao de trabalho, publico,luta diria). Faz-se ento uma analise profunda sobre o carnaval, e todas as suas formas de apresentao: o carnaval de rua, os blocos, os clubes e as escolas de samba. O carnaval de rua caracterizado por ser de bairro, familiar e aberto ao publico. Os chamados blocos so slidos e estruturados, no tem a necessidade de causar impacto e reforam a vizinhana. J as escolas de samba, apresentam uma forte hierarquia, suas apresentaes so sempre luxuosas e exaltam a imagem do nobre. No entanto, os clubes so sempre lugares privados, algumas vezes com venda de ingressos, tornando-o publico, mas s para aqueles que puderem pagar. O autor faz uso do mtodo comparativo para analisar o carnaval americano, mais especificamente o de Nova Orleans, com o carnaval brasileiro. O questionamento bsico, feito com relao esse estudo, seria se encontramos o mesmo fenmeno nesses dois tipo de carnavais, em sociedades completamente diferentes. O carnival americano mais do que uma situao, e sim um lugar, onde sexo deixa de ser considerado pecado e a hierarquizao do mundo e das pessoas faz parte da ideologia popular. A primeira distino entre esses dois modelos a ser destacada seria o fato de o carnival ser localizado, enquanto o carnaval generalizado. Enquanto no Brasil este perodo caracterizado por liberdade e anonimato, em Nova Orleans realizado como sendo exclusivo de uma nica classe e sendo dividido em vrias Krewes que servem de modelo para a ordem carnavalesca. importante ressaltar que o carnival diferenciado para brancos, negros de classe mdia e alta e por fim negros pobres. J no Rio de Janeiro o carnaval se divide em duas categorias: os de rua, formadas por blocos, e o de clubes, que so organizaes de classe mdia alta. No momento do desfile, a escola de samba assemelhada a Krewes de Nova Orleans, porm, nestas os ricos sempre permanecem juntos, enquanto naquelas h uma unio de negros favelados, marginais ou suburbanos indicando uma alta capacidade de organizao. Nelas os pretos e pobres so os doutores e os professores da ginga, da dana, da criatividade. So eles que manifestam essa superioridade da raa, e so considerados privilegiados por isso, como cita o prprio autor. O carnaval brasileiro pode ser considerado como inclusivo, aberto e democrtico (grifos do autor), ao contrrio do carnaval americano que exclusivo, aristocratizante e discriminativo. O grande questionamento proposto pelo autor, e que acreditamos que melhor define o motivo pelo qual esses objetos esto sendo estudado, seria:
como possvel ter um carnaval aristocrtico numa sociedade igualitria e ter- no caso brasileiro- precisamente o inverso, ou seja: um carnaval igualitrio, numa sociedade hierarquizada e autoritria? Para fazer a comparao entre esses dois modelos, de modo que a pesquisa se tornasse vlida, foi preciso associ-los aos seus devidos contextos, problemas e valores. No caso americano observa-se uma tentativa clara de recolocar um princpio de diferenciao em um meio social onde o credo oficial o exclui legal e juridicamente. J no Rio, h uma inverso carnavalesca onde ficam suspensos temporariamente classificaes exatas de pessoas, coisas, categorias, grupos, etc. O autor prope ento uma comparao entre os smbolos de ambos, no caso americano o Rex, smbolo da aristocracia, estando deslocado em tempo e espao, o que o faz tornar-se smbolo. No Brasil, o smbolo do carnaval o malandro, o qual afronta a idia de que em nosso mundo burgus individualista somos sempre ordenados por eixos nicos, fazendo-nos acreditar em outras dimenses e eixos. Assim, encontra-se no mundo social brasileiro as chamadas equaes compensatrias, por exemplo, ricos mas infeliz, burro mas belo, inteligente mas chato, etc. A inverso que ocorre no carnaval brasileiro ento, considerada oposta ao do americano, pois os marginais e inferiores (chamados de indivduos), se transformando em pessoas e vice-versa. Entra ento a necessidade de se explicar o motivo da diferenciao dos dois termos feita pelo autor, onde a concepo de indivduo esta associada idia de algum sem ningum e sem posio social, no entanto, pessoa um titular de direitos, um algum no contexto social. Atravs de seu estudos, DaMatta analisa o rito do sabe com quem est falando, o qual implica sempre em uma separao radical e autoritria de duas posies sociais real ou teoricamente diferentes. Ele a negao do jeitinho, da cordialidade e da malandragem. Temos, ento, dois traos caracterizando a expresso: o aspecto escondido e a vertente indesejvel da cultura brasileira. Se o escondemos porque o rito revela conflito, e somos avessos s crises. J no caso da vertente indesejvel porque estamos inseridos em um sistema social extremamente preocupado com o cada qual em seu lugar, isto , com hierarquia e com autoridade. Assim, temos um sistema social com aspectos conhecidos, mas no reconhecidos pelos seus membros. Observa-se que tudo o que diz respeito ao inclusivo por ns manifestadamente adotado. O contrrio valido para o exclusivo, freqentemente escondido ou falado em voz baixa. Estas pesquisas realizadas no mostram o quanto ns hierarquizamos as coisas infinitamente, ou seja, patres so classificados como bons ou maus, felizes ou infelizes, ricos ou pobres, etc. Isso seria ento a base para as tais equaes compensatrias e complementares, pois elas nos servem para diferenciar os iguais. Enquanto o sabe com quem est falando utilizado aqui no Brasil para situar algum em uma posio superior, sendo um rito autoritrio de separao de posies sociais, o Who do you think you are? , inversamente, um rito igualitrio. Em todos os exemplos dados pelo autor no capitulo IV, nota-se claramente que o sabe com quem est falando implica em passagem de um papel universalizante para outro muito mais preciso, capaz de localizar o interlocutor dentro do sistema que se toma como dominante. Em alguns casos especficos relatados pelo autor, o sabe com quem est falando serve como um ritual de reforo, forma de trazer a conscincia dos atores aquelas diferenar necessrias s rotinas sociais em situaes de intolervel igualdade. Pode-se dizer, ento, que o sabe com quem est falando opera como um mecanismo de devoluo das pessoas aos seus devidos lugares. Ele permite tambm estabelecer a pessoa onde antes s havia um indivduo. DaMatta faz ento um distino entre aquilo que chama de individuo e pessoa. Faz ainda uma ressalva de que a mascara social no algo que possa ser retirado, como uma farda ou vestimenta, mas uma cicatriz, um corte, um furo, sinais de prerrogativas sociais que geralmente so marcadas por uma ideologia complementar e fundadas na reciprocidade. No capitulo V o autor se refere aos carnavais como rituais coletivos de inverso da ordem social, e modo de ao e reao coletiva. Para ele a sociedade diferente porque em cada formao social certo numero de dramas levado a efeito, se temos dramatizaes regulares, tambm temos personagens recorrentes. destes personagens que estes dois captulos iro falar na tentativa de mostrar como eles so coerentes as nossas formas cerimoniais mais bsicas.
DaMatta se refere aos problemas da dicotomia que seria um conflito tanto em questo ao indivduo/sociedade assim como indivduo/mundo. A respeito da questo indivduo/sociedade descobrimos que essa oposio do individuo ao coletivo s possvel de ser enfrentada em seus termos polticos e sociais onde o individuo ganha um peso especial, passando ser fiel da balana pela qual se mede o coletivo. Quando falamos de certos padres de comportamento social, de certos mecanismos especficos usados e at abusado por uma dada sociedade, estamos falando de atores que vivem tais padres ou esto submetidos a certas linhas de foras vigentes nesta sociedade. O autor fala que no Brasil assim como em outras sociedades, o personagem nunca deve ser um homem comum, com uma rotina chata e desinteressante. Mas pelo estudo dos carnavais o heri deve ser sempre um pouco trgico para ser interessante, com uma trajetria cheia de tragdias e desmascaramentos. A promessa que temos nos nossos dramas raramente e feita por adquirir felicidade, sempre ficamos fascinados com os contos de enriquecimento e elevao social do heri. A base do drama e fazer o heri terminar com o dobro de bens adquiridos no comeo. O autor fala que ns nos identificamos com esse fato do heri se dar bem. J quando se fala em indivduo/mundo seria a oposio entre casa e rua, onde o mundo da rua cruel e exige luta, temos assim, o heri em plena existncia num universo cruel e hostil, usando somente as suas foras para chegar a um porto seguro. O autor d a entender que vivemos num eterno futuro porque estamos sujeitos ao passado. S podemos ser o que queremos porque somos fiis quilo que fomos. O Brasil, um pas do futuro e da esperana porque, assim como acontece com seus heris, uma sociedade ligada ao passado. O autor se refere aos heris do carnaval como marginais de todos os tipos, pode ser porque esto situados nos limites do tempo histrico, como gregos, romanos, aristocratas... Ou ento situados nos pontos extremos das nossas fronteiras, como havaianas, baianas, chineses. Sendo assim, se fosse para reunir todos esses tipos em uma categoria eles seriam definidos malandros. Malandro um ser deslocado das regras formais, excludo do mercado de trabalho e individualizado pelo modo de falar, andar, e vestir-se. Sendo assim criar um carnaval seria desempenhar um papel de malandro. Pedro Malasartes o modelo do chamado malandro, freqentemente vestido com sua camisa listrada, anel com efgie de So Jorge e sapatos de duas cores. O personagem oposto ao malandro seria o ator das paradas militares e dos rituais da ordem: o Caxias. O nome veio do patrono Duque de Caxias. Para DaMatta quem fica entre o malandro e o caxias, ou seja, entre a ordem e desordem seria o renunciador, aquele que rejeita o mundo social como ele se apresenta. O problema do renunciador no seria nem mandar, nem sobreviver, e sim criar outra realidade. Sendo assim, seus instrumentos com o mundo so as rezas, em vez de discursar ou cantar e danar, o renunciador reza e caminha. Enquanto o malandro promete uma vida de sombra e gua fresca em que a realidade interior vale mais que o mundo. O renunciador procura juntar o interno com o externo e criar um universo alternativo e novo. Malandros e Caxias prometem carnavais e paradas, o renunciador um mundo novo, um universo social alternativo. Assim o papel social de renunciador tambm est disposio de todos ns, o renunciador tem de se haver com suas vaidades seu orgulho, deve abandonar o mundo social com suas riquezas e exploraes. Fica bem clara a associao dos trs rituais com trs personagens dominantes; o malandro, o caxias e o renunciador. Pode-se dizer que o Caxias esta dentro da ordem e se preocupa com regras sociais. Sendo assim, o caxias no um tipo social simples, mas sim um seguidor de regras de conduta, leis, de lealdade absoluta, honesto e com o desejo de ver o pas melhorar. J o malandro utiliza de um espao social onde encontramos desde o simples gesto sagaz que pode ser realizado por qualquer um, ate um golpe profissional. O campo do malandro vai, numa gradao, da malandragem socialmente aprovada e vista entre ns como esperteza, ao ponto mais pesado do geste desonesto. E quando o malandro passa a viver de um jeito desonesto vivendo golpes e at virando um marginal ou um bandido. Da mesma maneira que o Caxias corre o risco de virar um palhao, o malandro corre o risco de virar o marginal. Cabe
observarmos tambm que nossos trs heris, o Caxias, o malandro, e o renunciador, existem tanto na chamada conscincia popular quanto no que se chama alta cultura. O malandro por sua vez, povoa tanto a cultura popular quanto as paginas de nossa fico. O autor se aponta que os fenmenos estudados na obra so desconhecidos da nossa sociologia oficial. Sendo importante observar as aventuras de Pedro Malasartes como uma narrativa que se espalhou Brasil afora. Os contos de Pedro Malasartes so situaes no qual Pedro engana pessoas de posies sociais com poder. Deparamo-nos ento com um heri sem carter,que tem por intuito converter as desvantagens em vantagens. Na linguagem moderna do Brasil Pedro, acima de ser um heri sem carter, um perseguidor dos poderes, pra vingar a falta de um relacionamento social mais justo entre o rico. Comparando a narrativa de Malasartes com a outras, observa-se que nela tudo se passa de maneira inversa. O heri tambm um pobre, mas sua vida e marcada por uma recusa de posies de poder, mesmo depois de ter derrotado o patro. O mito de Malasartes tambm pode ser visto como o mito do trabalhador brasileiro, que sempre busca aquilo que no possui: a busca por um bom trabalho, com um bom patro que os ancore na estrutura social. E para tanto tem de realizar uma caminhada em direo ao mundo e dura realidade da vida, deixando para trs suas famlias e lares. Em outras palavras, quem pobre precisa ganhar a vida, expresso usada no conto e na vida diria, que mostra a necessidade de viver: o trabalho e o patro. Onde pobreza= atividade, trabalho, mudana. Sendo que quem est rico no precisa de movimentao alguma, logo o estado de riqueza=inatividade. . Ganhar a vida, portanto, significa ter que se mexer. A narrativa mostra um grupo social representando o mundo dos pobres e apenas um homem, o fazendeiro, como representante do mundo dos ricos. Segundo Damatta, na narrativa, observa-se uma Mediao pela honestidade, aonde a pobreza conduz a busca de trabalho. O conto apresenta tambm um ponto crucial, onde o fazendeiro, que est economicamente certo, por sua vez, est moralmente errado. Aqui, sem duvida, a narrativa chama a ateno para as leis econmicas, em contraste com as relaes pessoas, estabelecendo uma ligao entre o contrato de trabalho e a impessoalidade desse contrato e as relaes que gera o carter mau do fazendeiro. A desonestidade do fazendeiro est ligada ao seu modo se ser negativamente um mau patro. O capitulo V termina com uma pergunta: Pedro Malasartes acaba moralmente e economicamente com o fazendeiro, mas porque no fica no seu lugar? Pedro no ocupa o seu lugar porque no pode fazer com ele o que ele fazia com seus empregados, ou seja, para no reproduzir o sistema, j que sua inteno era somente a vingana. H ainda uma diferenciao entre Pedro e um bandido, porque enquanto o bandido destri o patro fisicamente, Pedro diferente, destri moralmente, e ainda, pelo mesmo mtodo que o patro usa para explorar seus empregados. Ele opta por uma estrada ambgua, do nem l nem c. E inventa o que parece ser uma caracterstica bsica do mundo social brasileiro. O VI e ltimo captulo comea com uma indagao: o que seria de um carnaval sem malandros e malandragem, e de uma procisso sem penitentes, rezas santos e renunciadores? Damatta apresentou os atores ou heris do mundo social brasileiro, visto por suas dramatizaes. Foi visto que o carnaval, as paradas e s procisses correspondia a trs personagens sociais paradigmticos, onde cada um pertencia ao universo social brasileiro. Os personagens seguiam um drama social rico, marcado por zonas onde a nao possvel, com
poucos entreatos, quando o espectador descansa e de novo se da conta que esta de volta ao mundo da realidade. A diferena entre este captulo e o anterior que no anterior foi analisado o malandro, agora ser analisado o renunciador. Outra diferena bsica tambm que agora estamos tratando de uma obra literria, j no primeiro caso o nosso heri era visto atravs de um texto sem assinatura ou autor. Trata-se a mostrar uma analise da novela de Joo Guimares Rosa A hora e a vez de Augusto Matraga. Onde se observa um momento da vida social brasileira, no mesmo plano de uma etnografia. O discurso etnogrfico se diferencia por certas particularidades: uma etnografia sempre assume uma posio de estranhamento diante de seu objetivo, etnografia pode ser considerada parte do discurso cientifico e objetivo justamente porque nela o autor deve existir como criador da realidade, mas como tradutor. Sendo assim, o etngrafo no inventa, situandose como aquele que permite a transformao do extico em familiar ou do familiar em distante. Damatta tambm se refere ao xtase, como forma possvel de exprimir a cultura e a sociedade. Deste modo, a literatura se afasta do mito na medida em que o gnero literrio representa uma viso removida do cotidiano. Rituais e mitos, portanto, correspondem a vises removidas do mundo cotidiano. O mito por sua vez, no e o discurso de uma classe especifica, mas a viso de toda a coletividade, sendo assim, o problema de uma sociedade complexa como a nossa. Neste captulo feita a analise de duas obras de Poe, O gato preto e O diabo no campanrio. No caso do primeiro conto o autor fala de um animal que foi morto sem motivo, e que determina a descoberta de um crime de um assassinato, o gato, portanto, no s revela o crime com tambm decide o destino do dono. Para o autor o gato serve como elemento articulador entre o homem e o destino de sua mulher, que fora assassinada. Porm o gato s pode denunciar, falar quando vira um gato mgico, e quem se refere a gato mgico est se referindo de uma historia fantstica, potica. J no segundo caso, O diabo no campanrio, a sociedade que Poe descreve, totalmente oclusa e sem historicidade. Uma aldeia com sessenta casas e com um grande relgio tenta ser uma comunidade sem tempo. Sua desgraa encontrar um demnio, que vem de outro mundo, onde a sociedade se desfaz, ficando de fato arruinada com ao desmembramento do seu sistema social. Poe faz uma analise humorstica das sociedades tribais do Brasil. Damatta tentou mostrar com esse trabalho, que o esprito humano trabalha sem suspeitar, as mesmas formas como problemas universais. As solues coletivas e individuais, limitadas a um grande problema so de certa forma parecidas. No caso de Augusto Matraga, o nome Matraga, no quer dizer nada, pois o outro lado de Nh Augusto, os trs nomes se referem a um s personagem, so os passos da travessia de um homem ao encontro de seu destino, buscado e construdo na dor, mas tambm na alegria, no encontro com o sagrado e no desfrute do mundano, sua hora e sua vez. Nh Augusto era dono de gado e de gente. Mas, numa virada da vida, perdeu tudo, incluindo a mulher que fugiu com outro, levando-lhe a filha junto. A partir desse ponto a narrativa poderia decorrer da cobrana de uma dvida de honra, como aconselhou o empregado Quim- eu podia ter resistido, mas era negcio de honra, com sangue s para o dono. No entanto, Nh Augusto renuncia vingana, mas no honra, e se regozija ao fim, radiante, ao se deparar com a hora e vez de ser Matraga, o homem que escolheu ser. Homem capaz de agir com coragem, justia, fraternidade e compaixo.
O autor fala que os trs nomes tem significado: Augusto; divino- um nome imperial com nascimento em Roma, fonte de poder e domnio. Nh Augusto- um classificador social e de poder, O terceiro nome, Matraga, corresponde a ltima etapa na trajetria do heri. A mudana de nome, corresponde a mudana na hierarquia social, por exemplo, a criada obscura se transforma em Cinderela , Silva ferreira, em Lampio, Edson Arantes do Nascimento, em Pel, e Nh Augusto, em Matraga. Portanto o nome pode ser sinnimo da posio na hierarquia, ou de degradao, desmerecimento, desta forma o nome pode ficar preso a certas posies, de tal forma, que pronunciar o nome sem o necessrio respeito pode ofender uma pessoa. J foi falado anteriormente que Matraga um instrumento de renncia, no caso dos renunciadores existe uma progressiva individualizao, rompendo-se irremediavelmente os laos que ligam o personagem sua formao social original, renunciadores abrem novos espaos sociais, heris reforam os papeis sociais j existentes. Como vimos, a narrativa de Rosa, fala de personagens do universo brasileiro, introduzindo um elemento importantssimo no mundo social brasileiro que s vezes, passa por despercebido nos estudos que visam entender o universo. No caso dos renunciadores, ele esto separados por elos com o mundo social original, de maneira que a renuncia gera a negao da vingana. Ao desistir d vingana, Matraga apresenta uma sada pessoal para o problema da luta social no mundo brasileiro, e gera uma possibilidade dada pelo sistema de rejeitar tudo. Temos ento dois modelos de interao social. Onde num deles pode-se usar a vingana e as hierarquias. Temos tambm dois modelos de vingana, a realizada por meio da astcia, com a humilhao servindo de arma principal, como o caso de Malasartes, e outro modo utilizando a violncia fsica, como no caso o banditismo social. Temos assim, mais malandros que se vingam por meio e musica ou relao jocosa- do que bandidos. Outra maneira em que a rejeio pode ser vista o caminho da renncia, que no caso de Matraga uma forma poderosa de agir contra a ordem estabelecida, porque a renncia e uma total rejeio, j que o fato no mais tentar vencer o fazendeiro que malvado e forte, mas sim criar condies para a implementao de algo muito mais complexo, sendo que o renunciador decide no mais voltar ordem social, e sim se liberta do seu passado e abre as portas para o futuro, criando e inventando novos espaos sociais. Enfim podemos dizer que tanto malandros quanto bandidos e renunciadores trazem a luz do dia as possibilidade de realizar um caminho criativo, mas contrario, dentro da estrutura social
Você também pode gostar
- Sociologia e Filosofia, Por DurkheimDocumento18 páginasSociologia e Filosofia, Por DurkheimWanessa Do Bomfim Machado100% (3)
- Resumo - A Escola de Chicago Por CoulonDocumento7 páginasResumo - A Escola de Chicago Por Couloncintial6882100% (2)
- Resenha Crítica Capítulo 2 Do Livro "O Impacto Do Conceito de Cultura Sobre o Conceito de Homem", de Clifford GeertzDocumento4 páginasResenha Crítica Capítulo 2 Do Livro "O Impacto Do Conceito de Cultura Sobre o Conceito de Homem", de Clifford GeertzRafaella Fiuza88% (8)
- Você Tem Cultura - DamattaDocumento4 páginasVocê Tem Cultura - DamattaBruno Fernandes100% (1)
- Serviço Social e A Prática ReflexivaDocumento15 páginasServiço Social e A Prática Reflexivaanon_936120998Ainda não há avaliações
- Resumo Do Livro "O Que É Sociologia", de Carlos Benedito MartinsDocumento1 páginaResumo Do Livro "O Que É Sociologia", de Carlos Benedito MartinsRafaella Fiuza79% (14)
- Fichamento A Sociologia Da Educação Do Final Dos Anos 60/ Início Dos Anos 70: o Nascimento Do Paradigma Da ReproduçãoDocumento4 páginasFichamento A Sociologia Da Educação Do Final Dos Anos 60/ Início Dos Anos 70: o Nascimento Do Paradigma Da ReproduçãoBarbara Ribeiro100% (1)
- Para Uma Teoria Crítica em Educação - José Alberto CorreiaDocumento158 páginasPara Uma Teoria Crítica em Educação - José Alberto CorreiaLuísFelipeLiraAinda não há avaliações
- Integra Mundo - Rditora TulipaDocumento308 páginasIntegra Mundo - Rditora TulipaIsabel Do RêgoAinda não há avaliações
- Paulo MeksenasDocumento177 páginasPaulo MeksenasMario Taveira Martins100% (1)
- Resumo Capitulo 1 Perspectivas Sociológicas Peter BergerDocumento3 páginasResumo Capitulo 1 Perspectivas Sociológicas Peter BergerPoli Lheiro100% (2)
- Resumo Do Capítulo A Literatura e A Vida SocialDocumento1 páginaResumo Do Capítulo A Literatura e A Vida SocialLemuel Diniz100% (1)
- O Que É Cultura - José Luiz Dos SantosDocumento94 páginasO Que É Cultura - José Luiz Dos SantosWilson Carlos100% (3)
- Resenha Currículo Políticas e PráticasDocumento3 páginasResenha Currículo Políticas e Práticaspriscilagama26Ainda não há avaliações
- A Pesquisa Na Vida e Na UniversidadeDocumento193 páginasA Pesquisa Na Vida e Na UniversidadeEder Janeo Da Silva100% (2)
- Evolucionismo Cultural ResumidoDocumento9 páginasEvolucionismo Cultural ResumidoAndré Matheus100% (7)
- Bernard Charlot - Relação Com o SaberDocumento22 páginasBernard Charlot - Relação Com o SaberLucas Da Silva Martinez50% (2)
- Escola Reflexiva e Nova RacionalidadeDocumento3 páginasEscola Reflexiva e Nova RacionalidadeVeronica Feitoza0% (1)
- Herbert de Souza Poder Do CidadãoDocumento6 páginasHerbert de Souza Poder Do CidadãoFrancisco EmanuelAinda não há avaliações
- Carminati, Thiago ZanottiDocumento295 páginasCarminati, Thiago Zanotticlaudioimperador100% (1)
- Resenha - A Casa e A RuaDocumento4 páginasResenha - A Casa e A RuaGuilhermeSilioAinda não há avaliações
- LIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006Documento2 páginasLIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006LailinêsAinda não há avaliações
- BHABHA, Homi. Locais Da Cultura. (Resenha)Documento4 páginasBHABHA, Homi. Locais Da Cultura. (Resenha)Lucas RochaAinda não há avaliações
- Resenha Critica Do Surgimento Do Serviço Social No PeruDocumento5 páginasResenha Critica Do Surgimento Do Serviço Social No PeruTamirisAinda não há avaliações
- Projeto BullyingDocumento11 páginasProjeto BullyingCa A.MAinda não há avaliações
- Adolescencia Ana BockDocumento5 páginasAdolescencia Ana BockGilberto Marcelino Geraldo100% (1)
- O Existencialismo e Um HumanismoDocumento4 páginasO Existencialismo e Um HumanismoDayse HansaAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro Pedagogia Do Oprimido 1Documento11 páginasFichamento Do Livro Pedagogia Do Oprimido 1HoffmanKaizerAinda não há avaliações
- Arte e Realidade Imitação e RepresentaçãoDocumento2 páginasArte e Realidade Imitação e Representaçãocristiano0% (2)
- Sociologia Da Educação Campo de Conhecimento e Novas TemáticasDocumento10 páginasSociologia Da Educação Campo de Conhecimento e Novas TemáticasAngela Maria MarquesAinda não há avaliações
- TOSCANO (1999) As Bases Sociológicas Da EducaçãoDocumento12 páginasTOSCANO (1999) As Bases Sociológicas Da EducaçãoGilson Azevedo100% (2)
- 2 - BERGER, P. Perspectiva Sociológica - A Sociologia Como Forma de ConsciênciaDocumento16 páginas2 - BERGER, P. Perspectiva Sociológica - A Sociologia Como Forma de Consciênciajose-leandro-semedo-3450100% (1)
- Filosofia Da EducacaoDocumento51 páginasFilosofia Da EducacaoAPARECIDA100% (2)
- Fabrício Mendes - Uma Crítica Ao Conceito de Masculinidade HegemônicaDocumento14 páginasFabrício Mendes - Uma Crítica Ao Conceito de Masculinidade HegemônicaNatã SouzaAinda não há avaliações
- Sociedade de Esquina - ResenhaDocumento2 páginasSociedade de Esquina - ResenhaAnonymous iY9sOs3h100% (2)
- BOURDIEU, Pierre - A Dominação MasculinaDocumento25 páginasBOURDIEU, Pierre - A Dominação MasculinaLucas Martinez100% (1)
- Resenha - Educação e Ideologia 24-03Documento4 páginasResenha - Educação e Ideologia 24-03Ana De BarrosAinda não há avaliações
- Denise Jodelet 2017 - Representacoes Soc PDFDocumento1 páginaDenise Jodelet 2017 - Representacoes Soc PDFjose alves0% (2)
- Mémoria e Sociedade Lembrança de Velhos - Ecléa BossiDocumento6 páginasMémoria e Sociedade Lembrança de Velhos - Ecléa BossiandreiaAinda não há avaliações
- Resenha A CIDADE: SUGESTÕES PARA A INVESTIGAÇÃO DO COMPORTAMENTO HUMANO NO MEIO URBANODocumento4 páginasResenha A CIDADE: SUGESTÕES PARA A INVESTIGAÇÃO DO COMPORTAMENTO HUMANO NO MEIO URBANOAyandra de Assis100% (1)
- CALIMAN Pedagogia SocialDocumento28 páginasCALIMAN Pedagogia SocialGeraldo Caliman100% (1)
- BAUMAN, Zygmunt - Enasaios Sobre o Conceito de Cultura.Documento3 páginasBAUMAN, Zygmunt - Enasaios Sobre o Conceito de Cultura.Alexandre FernandesAinda não há avaliações
- Sobre A Autonomia Do Método Biográfico - FerrarottiDocumento7 páginasSobre A Autonomia Do Método Biográfico - FerrarottiSouza Gabriel100% (2)
- Conceitos Básicos para A Compreensão Da Vida SocialDocumento1 páginaConceitos Básicos para A Compreensão Da Vida Socialtutorcaio60% (5)
- Plano de Aula Democracia Cidadania e MS No BR UFSCar 2sem2017Documento8 páginasPlano de Aula Democracia Cidadania e MS No BR UFSCar 2sem2017Gota de Limão Gota de LimãoAinda não há avaliações
- 1 Resenha - Isto Não É Um CachimboDocumento4 páginas1 Resenha - Isto Não É Um CachimboCristian SalesAinda não há avaliações
- A Dimensão Investigativa No Exercício ProfissionalDocumento20 páginasA Dimensão Investigativa No Exercício ProfissionalElaine Cristina100% (1)
- Fichamento - Estruturas Elementares Do ParentescoDocumento4 páginasFichamento - Estruturas Elementares Do ParentescoEduardo FreitasAinda não há avaliações
- Aula 2 - Identidade e História: Essencialismo X Não EssencialismoDocumento8 páginasAula 2 - Identidade e História: Essencialismo X Não EssencialismoNi Ramalho50% (2)
- Apostila - Política e Legislação Educacional BrasileiraDocumento52 páginasApostila - Política e Legislação Educacional BrasileiraAPARECIDA100% (1)
- Carnaval Na Idade Media Resposta.Documento9 páginasCarnaval Na Idade Media Resposta.Rosana MeloAinda não há avaliações
- Preconceito Linguistico Marcos BagnoDocumento9 páginasPreconceito Linguistico Marcos BagnoEstêvão FreixoAinda não há avaliações
- Colecao Primeiros Passos O Que e Etica Alvaro L M VallsDocumento4 páginasColecao Primeiros Passos O Que e Etica Alvaro L M Vallsteegoviana0% (1)
- Aula Religião e Construção Do Mundo - Peter BergerDocumento28 páginasAula Religião e Construção Do Mundo - Peter BergerDavid MesquiatiAinda não há avaliações
- FOUCALT. Fichamento História Da SexualidadeDocumento24 páginasFOUCALT. Fichamento História Da SexualidadeSusanaSantos100% (1)
- Resumo LivroDocumento9 páginasResumo LivroNicolas MaiaAinda não há avaliações
- PASSAGENS, 20MARGENs20POBREZA.20Dramas, Campos e Metáforas. TURNER, Victor. 2008.Documento36 páginasPASSAGENS, 20MARGENs20POBREZA.20Dramas, Campos e Metáforas. TURNER, Victor. 2008.Isis SantosAinda não há avaliações
- Da Matta. Voce Tem CulturaDocumento4 páginasDa Matta. Voce Tem Culturapedromello07Ainda não há avaliações
- Texto 2 - Unidade 1 - MATTA - Você Tem CulturaDocumento4 páginasTexto 2 - Unidade 1 - MATTA - Você Tem Culturajacksonsouzza152Ainda não há avaliações
- DAMATTA Voce Tem CulturaDocumento4 páginasDAMATTA Voce Tem CulturaCláudia MachadoAinda não há avaliações
- Guia Do IncorporadorDocumento24 páginasGuia Do IncorporadorLarembAinda não há avaliações
- LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO CASO ELLWANGER (Completo)Documento20 páginasLIBERDADE DE EXPRESSÃO NO CASO ELLWANGER (Completo)LarembAinda não há avaliações
- Processos de Moscou e Os Campos de Concentração RussoDocumento36 páginasProcessos de Moscou e Os Campos de Concentração RussoLarembAinda não há avaliações
- FuturismoDocumento6 páginasFuturismoLarembAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa: LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO CASO ELLWANGERDocumento14 páginasProjeto de Pesquisa: LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO CASO ELLWANGERLaremb100% (1)
- A Ordem Do Discurso e VargasDocumento11 páginasA Ordem Do Discurso e VargasLarembAinda não há avaliações
- Algoritmo 6 - Fichas Avaliacao PDFDocumento94 páginasAlgoritmo 6 - Fichas Avaliacao PDFSu Teixeira100% (2)
- PassarimDocumento33 páginasPassarimLuiz GonçalvesAinda não há avaliações
- Roteiro Espetáculo 2022Documento5 páginasRoteiro Espetáculo 2022Eduardo Rodighero MazonettoAinda não há avaliações
- Edital Sma 303 2015 PDFDocumento57 páginasEdital Sma 303 2015 PDFPedro BragaAinda não há avaliações
- Galgo - Plano de ComunicaçãoDocumento122 páginasGalgo - Plano de ComunicaçãoAlexandre MonizAinda não há avaliações
- 2021-04-16 Lista Associados Da Regional Santa Catarina Rqe 1Documento17 páginas2021-04-16 Lista Associados Da Regional Santa Catarina Rqe 1Tiago Luiz ColioneAinda não há avaliações
- E - Expresso 2614 (20221202@JornaisPT)Documento100 páginasE - Expresso 2614 (20221202@JornaisPT)Rui João MendesAinda não há avaliações
- Apostila ViolaoDocumento15 páginasApostila ViolaocleomarvaladaresAinda não há avaliações
- SAX Tenor - Cada Detalhe - Fábio SampaioDocumento2 páginasSAX Tenor - Cada Detalhe - Fábio SampaioDouglas Henrique LemesAinda não há avaliações
- Dom Quixote - FINALDocumento13 páginasDom Quixote - FINALOutro LuizAinda não há avaliações
- Canção NoturnaDocumento1 páginaCanção NoturnaMárcio FonsecaAinda não há avaliações
- Neuropsicologia PsiclinicaDocumento127 páginasNeuropsicologia Psiclinicaneuropartilha4665100% (4)
- Domine o Mapa Do Teclado - Ezequias PortoDocumento4 páginasDomine o Mapa Do Teclado - Ezequias PortoMedeiros DenizeAinda não há avaliações
- Miolo Final Funk-Se Quem Quiser 11 07 11 PDFDocumento224 páginasMiolo Final Funk-Se Quem Quiser 11 07 11 PDFDaniel SilvaAinda não há avaliações
- Vamos à FeiraDocumento10 páginasVamos à Feirayasmin.sodreAinda não há avaliações
- Xote Dos Milagres - CifraDocumento3 páginasXote Dos Milagres - CifraCristiano José do SantosAinda não há avaliações
- Tertúlias Dialógicas - ApresentaçãoDocumento62 páginasTertúlias Dialógicas - ApresentaçãoLeandroAinda não há avaliações
- Orquestra Barroca e Clássica - DiferençasDocumento1 páginaOrquestra Barroca e Clássica - DiferençasPatricia TeixeiraAinda não há avaliações
- Songbook AnaquimDocumento69 páginasSongbook Anaquimeu_inesAinda não há avaliações
- 1006ondas Fani (Y)Documento27 páginas1006ondas Fani (Y)Cris OliveiraAinda não há avaliações
- Guia Completo para Ministério de LouvorDocumento60 páginasGuia Completo para Ministério de LouvorNélio Melo67% (3)
- Coimbra: HistóriaDocumento11 páginasCoimbra: Históriarafaeldeoliveiradias13051988Ainda não há avaliações
- Livreto Folia de Reis 2017 ADocumento8 páginasLivreto Folia de Reis 2017 ANelson Christo da Silva Filho FilhoAinda não há avaliações
- Escala de AltruismoDocumento1 páginaEscala de Altruismojucensi.pAinda não há avaliações
- Cifra Club - Somente em Cristo - Jairo BonfimDocumento3 páginasCifra Club - Somente em Cristo - Jairo BonfimfirminoclaudioAinda não há avaliações
- 5º Teste 4 Oral OrquestraDocumento2 páginas5º Teste 4 Oral OrquestraCecilia MeloAinda não há avaliações
- Compositores de Canção de Câmara Capixaba - Final - Annpom 2023-2Documento15 páginasCompositores de Canção de Câmara Capixaba - Final - Annpom 2023-2Lucimara V TeixeiraAinda não há avaliações
- Escala de Humor InfantilDocumento3 páginasEscala de Humor Infantilcaroline oliveiraAinda não há avaliações
- A Prática de Solfejo Dos Músicos Da Banda Sinfônica Municipal de Manaus Que Tocam ClarineteDocumento50 páginasA Prática de Solfejo Dos Músicos Da Banda Sinfônica Municipal de Manaus Que Tocam ClarineteMedina Zola MaximusAinda não há avaliações
- Amar Pelos Dois, Salvador Sobral PDFDocumento3 páginasAmar Pelos Dois, Salvador Sobral PDFSílvia PintoAinda não há avaliações