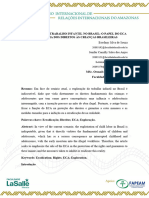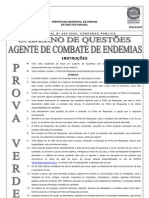Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Poncham, Marcio. Educação e Trabalho Como Desenvolveu Um A Relação Virtuosa PDF
Poncham, Marcio. Educação e Trabalho Como Desenvolveu Um A Relação Virtuosa PDF
Enviado por
Aritana AlencarTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Poncham, Marcio. Educação e Trabalho Como Desenvolveu Um A Relação Virtuosa PDF
Poncham, Marcio. Educação e Trabalho Como Desenvolveu Um A Relação Virtuosa PDF
Enviado por
Aritana AlencarDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Marcio Pochmann
EDUCAO E TRABALHO: COMO DESENVOLVER UMA RELAO VIRTUOSA?
MARCIO POCHMANN*
RESUMO: Este artigo discute as relaes entre educao e trabalho. A tese principal que a reestruturao da educao necessita articular o estgio de desenvolvimento econmico e a expectativa mdia de vida da populao. Palavras-chave: Educao. Trabalho. Desemprego. Juventude. EDUCATION HOW
AND WORK:
COULD WE DEVELOP A VIRTUOUS RELATION?
ABSTRACT: This paper discusses the relations between education and work, in Brazil. Its main thesis is that the restructuring of education has to be articulated with an economic development stage and the mean expectation of life of the population. Key words: Education. Work. Unemployment. Youth.
Professor licenciado do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); secretrio do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade do Municpio de So Paulo.
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
383
Educao e trabalho: como desenvolver uma relao virtuosa?
1. Apresentao
urante a dcada de 1990, o Brasil apresentou uma melhora no desprezvel nos seus ndices educacionais quantitativos. Reduziu a taxa de analfabetismo e aumentou o nvel mdio de escolaridade, ainda que a um ritmo menor do que nas dcadas anteriores.1 Da mesma forma, a expectativa mdia de vida da populao continuou elevando-se. Diante das mudanas tecnolgicas, com vrias inovaes no campo da sade, entre outros, aumenta-se, mais rapidamente do que em outros perodos, o tempo mdio de vida da populao, alterando significativamente a situao da juventude. Paralelamente a tudo isso, acentuaram-se os nveis de desemprego, assim como a precariedade, o sobretrabalho2 e a deteriorao dos nveis de renda, especialmente entre as faixas etrias mais jovens. Com a continuidade ao longo dos anos de 1990 da manifestao da crise do desenvolvimento econmico brasileiro a mais longa desde 1840 , a degradao do mercado de trabalho persistiu mais acentuadamente. Em funo desse cenrio, como se apresentou a relao entre educao e trabalho? O objetivo deste artigo o de desenvolver o argumento de que a deteriorao das condies de funcionamento do mercado de trabalho, ao invs de ser contida pela melhoria educacional, contribuiu para o desperdcio e o desgaste de habilidades educacionais em atividades precrias e de baixa qualidade. Em contrapartida, a persistncia do desempenho to desfavorvel do mercado de trabalho induziu ainda mais as segmentaes ocupacionais, excluindo os mais pobres dos empregos nos segmentos educacionais mais elevados. De certa forma, ampliou-se consideravelmente o processo discriminatrio no interior do mercado de trabalho, sobretudo entre distintas faixas etrias (jovens e adultos), raas e gnero. Tal crculo vicioso impediu que a educao revelasse o seu potencial transformador das relaes humanas e da agregao de valor produo no Brasil. No contexto de emergncia da sociedade do conhecimento, os requisitos educacionais do emprego ampliaram-se. Entretanto, a incapacidade de superao da crise do desenvolvimento econmico nacional, associada ao ciclo de financeirizao da riqueza e estagnao dos investimentos, especialmente nos setores mais intensivos em tecnologia, estimulou mais ainda a disparidade
384
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Marcio Pochmann
extrema entre os distintos nveis de renda. Assim, o Brasil terminou afastando-se das oportunidades de assimilao das tendncias potencialmente positivas da sociedade do conhecimento, posto que se caracteriza cada vez mais como uma sociedade de baixos salrios voltada exportao de bens primrios (agronegcios) e de consumo ostentatrio de servios pessoais de poucas famlias ricas. Sair deste crculo vicioso vital para que o pas possa participar de forma mais dinmica do novo cenrio internacional e ampliar o dinamismo interno, o que favorece que a educao passe a significar novamente oportunidades redobradas de ascenso social e, no como hoje, uma defesa, alis profundamente precria contra a elevao do desemprego e a queda do nvel de renda. No parece ser por outro motivo que o pas vive um quadro de guerra civil no declarada, com homicdios praticados anualmente no Brasil representando 9,4% de todos os assassinatos no mundo. Tambm com a massa humana sem trabalho, que representa quase 5% do desemprego mundial, apesar de o pas significar somente 2,8% de toda a populao do globo terrestre, ganhou nova dimenso a emigrao de brasileiros, especialmente aqueles de maior escolaridade, para outras naes com melhores horizontes de mobilidade social.3 Em sntese, o presente artigo procura evidenciar os principais desafios colocados populao brasileira, fundamentalmente ao jovem num mundo do trabalho tortuoso como o verificado desde o ltimo quartel do sculo passado. Da mesma forma trata-se tambm de buscar relacionar particularmente as variveis como educao e trabalho, em busca de novas polticas de incluso social j em curso no pas.
2. O jovem na crise do mercado de trabalho
Em pleno limiar do sculo XXI, a participao relativa do segmento etrio de 15 a 24 anos no total da populao economicamente ativa de 25%, embora o jovem responda por 50% do desemprego nacional. 4 Ao passo que a taxa de desemprego aberto dos jovens gira em torno dos 18%, a taxa mdia nacional esteve em 9,4% do total da fora de trabalho, segundo o IBGE (PNAD) no ano de 2001. Alm disso, nota-se tambm que, do total de 33,5 milhes de jovens, apenas 38% (12,6 milhes) eram inativos, ao passo que 51%
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
385
Educao e trabalho: como desenvolver uma relao virtuosa?
(16,8 milhes) possuam algum vnculo empregatcio e 11% (3,7 milhes) estavam desempregados. Somente a metade do total da populao juvenil estudava, sendo a maior parte fora da srie escolar correspondente faixa etria. A maior parte dos que no estudavam era composta de jovens que trabalhavam. Isto , 10,6 milhes de jovens trabalhavam, porm no estudavam. Da mesma forma, percebe-se que entre os jovens inativos havia 35,3% que no estudavam, equivalendo a 4,5 milhes de brasileiros (13,6% de todos os jovens no pas) que no trabalhavam, no estudavam nem procuravam emprego.5 Tal conjuntura refere-se possivelmente a uma situao de inatividade forada, que se associa emergncia da nova excluso no Brasil.6 Isso se expressa, em grande medida, com relao escolaridade, posto que, do total dos jovens que estudam, 43,2% estavam no ensino fundamental, 43,5% estavam cursando o ensino mdio e apenas 13,3% estavam no ensino superior. Em contrapartida, quando se levam em considerao os nveis de renda diferenciados, podem ser identificadas enormes desigualdades nas oportunidades de educao e trabalho entre os jovens. Constata-se que, na ocupao, so os jovens pertencentes s famlias de maior renda aqueles com maior acesso aos trabalhos assalariados (77,1%), sendo que 49,0% dos jovens ricos que trabalham possuem contrato formal. Para os jovens pertencentes s famlias de baixa renda, somente 41,4% possuem empregos assalariados, sendo ainda bem menor o contingente de ocupados assalariados com contrato formal (25,7%). Sem acesso ao assalariamento e, sobretudo, ao contrato formal, h inequivocamente maior excluso dos benefcios da legislao social e trabalhista para os jovens de baixa renda no Brasil. No caso das categorias ocupacionais, observa-se tambm uma forte desigualdade entre jovens ricos e pobres. A presena de jovens de maior renda no trabalho domstico residual (7,9%), sendo que apenas 7% percebem algum rendimento desse trabalho. No caso dos jovens de baixa renda, a participao no trabalho domstico de quase a metade (46,2%), com mais de 26,8% remunerados. Ainda com relao ao funcionamento do mercado de trabalho, verifica-se que o desemprego de jovens de baixa renda bem maior (26,2%) que o desemprego dos jovens de renda elevada (11,6%). Por
386
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Marcio Pochmann
fim, cabe ainda destacar a relao entre o nvel de renda e a educao, uma vez que, entre os jovens pobres, apenas 38,1% estudavam, ao passo que, entre os jovens ricos inativos, 80% estudavam. Para parcela significativa de jovens filhos de pais pertencentes s classes de renda mdia e alta tem havido uma presso considervel para o abandono do pas em busca de melhores perspectivas ocupacionais e de renda, ao passo que aos jovens filhos de pais pobres a violncia tem emergido em meio falta de um horizonte de ocupao e renda decente.
3. Dinmica educacional e do mercado de trabalho
O que acontece com o segmento jovem da sociedade brasileira apenas a face mais visvel do drama social de um pas estagnado economicamente nos ltimos 24 anos. Isso porque a dinmica excludente do mercado de trabalho brasileiro vem deteriorando as vantagens potencialmente oferecidas pela educao, alm de aumentar as desigualdades de renda para os mesmos nveis educacionais. Quanto questo da escolaridade, percebe-se que as taxas de desemprego se elevaram a um ritmo mais rpido justamente para os nveis de maior escolaridade entre 1992 e 2002. Para os segmentos com 14 anos de estudo, a desocupao cresceu 76,9%, 3 vezes a mais que o ritmo de crescimento do desemprego para os segmentos educacionais com at 3 anos de estudo. Contrariando a teoria do capital humano, a elevao dos nveis de escolaridade num quadro de estagnao econmica, baixo investimento em tecnologia e precarizao do mercado de trabalho acaba se mostrando insuficiente para potencializar a gerao de trabalho. Apesar disso, prosseguem as vertentes daqueles que acreditam no papel independente e autnomo da educao com relao mobilidade social ascendente. 7 O mais surpreendente, entretanto, perceber que, se analisadas as informaes para o ano de 2002, as taxas de desemprego nos grupos de maior renda sofrem uma inflexo para baixo entre a faixa de 9 anos de estudo e a de 15 ou mais anos de estudo, ao passo que na classe baixa, medida que se eleva a escolaridade, cresce o desemprego. Ora, num contexto de mercado de trabalho apertado e pouco dinmico, os empregos mais nobres e de melhor qualidade acabam
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
387
Educao e trabalho: como desenvolver uma relao virtuosa?
sendo preservados para os mais ricos. Alm do preconceito racial, agrava-se o preconceito de classe. Grfico 1
Brasil Evoluo da taxa de desemprego por nvel de escolaridade, 1992 e 2002
Fonte: IBGE (PNAD) Elaborao: SDTS/PMSP
Um acompanhamento da dinmica do emprego por nvel educacional e faixa de renda permite dar conta desta realidade. Em primeiro lugar, vale ressaltar a queda da participao no total de ocupados das pessoas com menos de 1 ano de instruo (analfabetas), de 17,9% para 10,7% entre 1992 e 2002. No extremo oposto, a participao daqueles com mais de 15 anos de estudo (curso superior completo) no conjunto dos ocupados salta de 5,1% para 7,4% ao longo do perodo. Enquanto existiam, no incio da dcada de 1990, 3,3 milhes de trabalhadores com curso superior, 10 anos depois eram 5,8 milhes os trabalhadores formados, um acrscimo de 75%. Parece tambm importante ressaltar que, medida que se eleva a escolaridade da populao de baixa renda, acompanha, em indicadores mais expressivos, o desemprego. O mercado de trabalho, diante da enorme escassez de emprego e do elevado excedente de mo-de-obra no pas, termina observando a manifestao mais evidente da discriminao, sobretudo quando se trata da populao de menor renda e mais escolaridade. Dessa forma, nota-se que, do ponto de vista da oferta educacional mais escolarizada, o desempenho do Brasil na dcada passada mostrou incrementos importantes, ainda que se possa questionar acerca da quali388
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Marcio Pochmann
dade da educao fornecida, bem como dos seus altos custos para trabalhadores, especialmente para os de baixa renda. Estes so, sobretudo, os mais penalizados pelo desemprego maior nos nveis de escolaridade. Grfico 2
Renda mdia (em reais de 2002) dos trabalhadores ocupados, com rendimentos por anos de escolaridade, em 1992 e 2002, e variao no perodo (em %)
Fonte: IBGE (PNAD) Elaborao: SDTS/PMSP. Valores deflacionados pelo ICV/DIEESE.
Em contrapartida, nem mesmo os segmentos educacionais com curso superior foram preservados da queda verificada na renda mdia. A renda mdia desse grupo caiu 35% no perodo 1992-2002, pouco abaixo do verificado para os analfabetos (-39%). J os segmentos de 8 a 10 anos e de 11 a 14 anos de estudo foram os mais prejudicados, haja vista que a sua renda caiu pela metade no perodo analisado. Isso provavelmente ocorreu porque num contexto de demanda contida j que, em face da estagnao econmica, as empresas restringem o seu nvel de produo a presso da oferta desses segmentos (com 1 e 2 completos) contribui para a queda da renda, o que agravado pelo cenrio de informalidade, precarizao e baixa sindicalizao da mo-de-obra. Em sntese, nota-se que, na melhor das hipteses, a elevao do nvel de escolaridade assegurou uma renda maior que nos estratos educacionais inferiores, no garantiu o acesso ao emprego e muito menos uma proteo contra a precarizao e deteriorao dos nveis de renda em cada estrato. Transformar este crculo vicioso numa relao virtuosa o grande desafio da sociedade brasileira.
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
389
Educao e trabalho: como desenvolver uma relao virtuosa?
Para tanto, a expanso da escolaridade deve ser vista no apenas do ponto de vista da produtividade, mas especialmente da cidadania. Para que o pas possa colher os frutos da sociedade do conhecimento, deve-se aumentar o ritmo de crescimento econmico e de acumulao de capital, promovendo simultaneamente uma redistribuio do tempo de trabalho e da renda. Dessa forma, amplia-se o retorno social do investimento.
4. Avano na expectativa mdia de vida e educao
Durante o sculo XX, a expectativa mdia de vida do brasileiro cresceu significativamente. Em 10 dcadas, a esperana de vida ao nascer simplesmente dobrou, passando de 33,4 anos para 63,5 anos para homem e de 34,6 anos para 70,9 anos no caso da mulher. Para os prximos 30 anos muito plausvel que a esperana mdia de vida do brasileiro alcance a casa dos 80 anos de idade, aproximando-se do que hoje realidade na maioria dos pases desenvolvidos. No Japo, na Frana, na Austrlia, entre outros pases com expectativa mdia de vida ao nascer superior atualmente aos 80 anos, torna-se possvel superar a barreira dos 100 anos nas prximas dcadas. Por decorrncia disso, parece ser natural que os conceitos de criana, adolescncia, juventude, adulto e velhice tornem-se cada vez mais limitados para dar conta da crescente complexidade do tradicional ciclo de vida. No passado recente, quando a expectativa de vida ao nascer estava um pouco abaixo dos 40 anos, a faixa etria de 15 a 24 anos poderia indicar precisamente um perodo de tempo compatvel com a idia de transitoriedade que marca a condio juvenil. Atualmente, quando a expectativa mdia de vida se encontra ao redor dos 70 anos no Brasil, aproximando-se rapidamente dos 100 anos de idade para as dcadas vindouras, torna-se fundamental identificar que est em curso um maior alargamento da faixa etria circunscrita juventude para algo entre 16 e 34 anos de idade. No se trata, evidentemente, de uma mera ampliao da temporalidade que contabiliza a fase juvenil. Trata-se, fundamentalmente, do reconhecimento necessrio de que a transio da adolescncia para a idade adulta est muito mais complexa do que era no passado, estando a exigir uma agenda pblica mais especfica voltada para uma faixa etria maior.
390
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Marcio Pochmann
Grfico 3
Brasil Evoluo da expectativa de vida ao nascer (em anos)
*projeo Fonte: IBGE, Anurio Estatstico do Brasil;
Tambm quando se considera o curso atual da transio da sociedade industrial para a chamada sociedade do conhecimento, tende-se a observar uma importante mudana na relao entre educao e formao e o mundo do trabalho. Em funo disso, o tempo de preparao para o ingresso no mercado de trabalho pode ser bem maior, com a educao e a formao estabelecendo uma relao de continuidade ao longo da vida til das classes trabalhadoras. No sem motivo, torna-se absolutamente fundamental proceder a um conjunto de alteraes no atual sistema educacional e de formao profissional. Justamente porque a fase de transio da economia tradicional para uma nova economia exige uma educao geral ampliada e formao continuada ao longo do ciclo de vida ativa das classes trabalhadoras condizente com o estgio de desenvolvimento econmico e o avano da expectativa mdia de vida da populao.8
5. Experincia exitosa de polticas de incluso social
A estratgia em curso no Municpio de So Paulo de incluso social analisada a seguir, justamente por destoar da maior parte das experincias adotadas em termos de polticas pblicas no Brasil, uma vez que representa uma das mais amplas aes de polticas sociais, capaz
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
391
Educao e trabalho: como desenvolver uma relao virtuosa?
de articular e integrar aes educacionais e trabalhistas, envolvendo a cobertura de quase 20% do conjunto da populao.9 O conjunto dessa estratgia se encontra dividido em nove programas sociais que se articulam e se integram entre si em torno de trs eixos-chave: a redistribuio de renda, a emancipao social, poltica e econmica e o apoio ao desenvolvimento local.10 No primeiro eixo-chave h um verdadeiro choque redistributivo no interior das famlias de pobreza extrema, o que representa uma significativa porta de entrada estratgia paulistana de incluso social, tendo na educao e na formao para o trabalho uma nfase especial. Por intermdio de quatro programas de transferncia de renda, buscase atender a distintas condies de pobreza, tendo segmentos etrios especficos recebido tratamentos diferenciados. Ao assegurar temporariamente uma complementao de renda, garante-se o ingresso dos segmentos mais excludos da populao s aes de emancipao social, poltica e econmica. No caso das famlias de baixa renda, com dependentes de 0 a 15 anos de idade, h o programa Renda Familiar Mnima, ao mesmo tempo em que, para o segmento etrio de 16 a 29 anos na condio de baixa renda e desemprego juvenil, h o programa Bolsa Trabalho. Esses dois programas municipais se encontram associados diretamente educao, na medida em que asseguram temporariamente a transferncia de uma renda vinculada elevao da escolaridade e ao desenvolvimento de atividades comunitrias, resultando na postergao do reingresso no mercado de trabalho e na melhor preparao para o trabalho como conseqncia. Em sntese, nota-se que, ao se garantir temporariamente uma renda e uma capacitao em atividades comunitrias, busca-se valorizar o protagonismo, o pertencimento e o empoderamento social dos segmentos pauperizados da populao. Da mesma forma, h o esforo de parte do Poder Pblico municipal direcionado ao oferecimento de condies prximas das verificadas somente nas classes de renda mdia e alta, que podem financiar a formao de seus filhos por mais tempo, permitindo que ingressem no mercado de trabalho suficientemente preparados para ocupar as melhores vagas disponveis. O programa Bolsa Trabalho ainda se prope a atender jovens de baixa renda e com maior escolaridade por meio de cursos pr-vestibulares gratuitos (Bolsa Trabalho Cursinho), integrado ao processo de
392
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Marcio Pochmann
disponibilizao de bolsas de estudo em universidades privadas (contrapartida reduo do imposto municipal sobre servios ISS) e em universidades pblicas.11 Outra varivel do programa Bolsa Trabalho a formao no local de trabalho, seja para aqueles jovens na situao de concluso do ensino mdio ou universitrio (Bolsa Trabalho Estgio), seja para os recm-formados (Bolsa Trabalho Emprego). J para as faixas etrias acima de 20 anos, h tambm programas especficos de garantia de renda associados reinsero no mercado de trabalho, compatveis com alternativas de gerao de trabalho e renda. So os casos do programa Operao Trabalho, voltado a desempregados de longa durao e de baixa renda fundamentalmente na faixa etria de 21 a 39 anos de idade, e do programa Comear de Novo, direcionado aos desempregados de baixa renda com 40 anos ou mais de idade. O programa Comear de Novo destaca-se na garantia de formao no local de trabalho para recm-contratados com 40 anos ou mais de idade, bem como financia tanto o pagamento de gastos com transporte na procura por trabalho como a formao no local de trabalho (Comear de Novo Emprego). Esses dois programas municipais objetivam combinar a complementao temporria de renda com a formao para a gerao de trabalho e renda assalariada, autnoma, empreendedora e em atividades comunitrias. Para o contingente de desempregados de longa durao, o programa Operao Trabalho oferece benefcio de renda para quem participa de atividades de formao terica e aprendizagem prtica, assim como custeia o vale-transporte associado qualificao para a procura ativa por trabalho. Uma vez ingressado nos programas redistributivos, todo beneficirio acessa simultaneamente o segundo eixo programtico da estratgia de incluso social, cujo objetivo alcanar a emancipao social, poltica e econmica articulada e integrada com a educao e a formao da cidadania. No caso das famlias do programa Renda Familiar Mnima, busca-se difundir conhecimentos bsicos (alfabetizao, economia domstica e oramentria, sade e higiene, entre outros), ao passo que para os beneficirios dos demais programas redistributivos existe a possibilidade da escolha de formao especfica, aps a passagem pelo mdulo bsico de 2 meses de conhecimento geral (tica, cidadania e cultura poltica e econmica).
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
393
Educao e trabalho: como desenvolver uma relao virtuosa?
No caso dos mdulos especficos, nota-se que eles compreendem o perodo de 4 a 10 meses, possveis nas reas de aprendizagem em empreendedorismo coletivo e individual (programa Oportunidade Solidria), em capacitao profissional para o trabalho assalariado ou autnomo (programa Capacitao Ocupacional e de Aprendizagem em Atividades de Utilidade Coletiva) e em atividades comunitrias (agentes comunitrios de lazer, de meio ambiente, de transporte, entre outros). Com relao aos beneficirios necessitados de apoio financeiro para montagem do negcio, compra de equipamentos, vestimenta, entre outros, h uma Central de Crdito Popular So Paulo Confia o Banco do Povo do Municpio de So Paulo , cujo objetivo a concesso de emprstimos vinculados a custos compatveis com a capacidade de pagamento do tomador. Dentro da estratgia de incluso social tambm existem portas de sadas comprometidas com as possibilidades de emancipao social, poltica e econmica da populao excluda. justamente a que tem importncia o eixo-chave de programas direcionados ao apoio do desenvolvimento local, especialmente nas regies em que se encontram os beneficirios dos programas redistributivos. O objetivo desse eixo-chave a transformao dos locais de moradia e de possvel exerccio de trabalho, perante a possibilidade de reorganizao geogrfica das atividades produtivas e de novas formas de reinsero no mercado de trabalho. Simultaneamente tambm faz parte desse eixo o apoio reestruturao empresarial, com forte nfase no desenvolvimento das cadeias produtivas intensivas de mo-deobra e geradoras de negcios, capazes de absorverem maior parcela de beneficirios dos programas sociais e trabalhistas de redistribuio de renda e de educao e cidadania. Por uma parte, o programa So Paulo Inclui possui uma rede de intermediao de trabalho e de negcios que se originou a partir da passagem dos beneficirios pelos programas redistributivos e emancipatrios. A ligao com o setor produtivo fundamental, alm da operacionalizao de uma rede de disponibilizao de vagas para que possam ser encaminhados os beneficirios capacitados para uma atividade empreendedora, assalariada, autnoma e comunitria. Por outra, o programa Desenvolvimento Local preocupa-se em articular e integrar o conjunto de atores relevantes da cidade com os
394
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Marcio Pochmann
beneficirios da estratgia paulistana de incluso social. Por intermdio dos Fruns de Desenvolvimento Setorial, busca-se envolver, na forma tripartite, atores empresariais, trabalhadores e universidades para ampliao de setores produtivos como txtil, mveis, cargas, entre outros. Assim, a capacitao ocupacional tcnica e gerencial de negcios visa a elevar os padres de competitividade, incorporando novas tecnologias e estimulando a contratao de beneficirios dos programas sociais. Neste sentido, cabe aos Fruns de Desenvolvimento Local a funo de envolvimento da sociedade civil organizada nas mais distintas regies geogrficas da cidade, valorizando o empoderamento dos segmentos excludos em torno da constituio de uma agenda popular de desenvolvimento local. Cabe ainda ao Poder Pblico municipal procurar incorporar na agenda governamental a gesto das propostas definidas especialmente pelos fruns locais. Diante de uma ampla cobertura social, bem como de toda sua complexidade referente estratgia de incluso social, que entre 2001 e 2004 atingiu quase 20% da populao paulistana, houve sempre uma forte nfase na gesto de informao, monitoramento e avaliao. Tudo se iniciou com a construo da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade (SDTS) voltada para projetos e articulao institucional, com aes orientadas pela metodologia de interveno na realidade contida no atlas da excluso social para os 96 distritos administrativos do Municpio de So Paulo. Da mesma forma, a adoo de um cadastramento multiuso permitiu o avano de dispor de um amplo banco de dados, suficiente para integrar os programas de garantia de renda do Municpio de So Paulo, do Estado de So Paulo (Renda Cidad) e do governo federal (antigos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentao, Carto Alimentao, Agente Jovem, entre outros). Com isso foi possvel integrar o conjunto de aes municipais de atendimento de sade (dependncia qumica), educao (baixa escolaridade), transporte (servios a clientes), assistncia (populao de risco, morador de rua), habitao (moradia), entre outras. Ademais de possibilitar a sensvel reduo nos custos administrativos dos programas sociais para menos de 8% do total dos recursos aplicados (no Brasil, em mdia o custo meio representa entre 1/3 e 50%), houve a centralizao das aes de incluso social no espao territorial. Tambm se pode ressaltar que o padro de gesto pblica
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
395
Educao e trabalho: como desenvolver uma relao virtuosa?
perseguido pela estratgia de incluso social para as famlias de baixa renda, que associa garantia temporria de renda com a elevao da escolaridade e ao exerccio da aprendizagem terica e prtica em atividades comunitrias e solidrias, valoriza a cidadania, o protagonismo e o pertencimento. Nesses termos, foi possvel constatar, por exemplo, a diminuio na taxa de homicdio do Municpio de So Paulo, sobretudo no conjunto dos distritos administrativos atendidos por maior tempo pelos programas sociais e trabalhistas.12 Ao mesmo tempo, verificou-se uma queda tanto na evaso escolar e como na reprovao, com simultnea elevao na taxa de aprovao escolar. Isso foi mais intenso em regies atendidas pelos programas sociais.13 Em sntese, observou-se maior percepo a respeito do exerccio da cidadania de parte da populao beneficiada, considerando-se o comprometimento da estratgia de incluso social com a emancipao social, poltica e econmica da populao-alvo.14 O avano na construo de mais uma etapa fundamental no compartilhamento de direitos tem sido alcanado na medida em que segmentos mais pauperizados da populao abandonam a condio de massa de manobra poltica do velho clientelismo e da assistncia filantrpica para assumir a posio de protagonismo cidado.
6. Consideraes finais
Em conformidade com as pginas anteriores, foi possvel notar como o complexo e desfavorvel quadro econmico e social brasileiro afeta parcelas significativas da populao trabalhadora. A despeito da evoluo positiva dos indicadores educacionais, registra-se uma piora no comportamento do mercado de trabalho, com elevao do desemprego e queda do rendimento dos ocupados, inclusive dos trabalhadores com maior grau de instruo. Os jovens, em especial, so atingidos decisivamente. De um lado pelo desemprego, j que a cada duas pessoas sem trabalho no Brasil, uma possui menos de 25 anos de idade. De outro, sem a perspectiva de mobilidade social ascendente, cresce, sobretudo entre os jovens, tanto a violncia como a emigrao da populao com maior grau de escolaridade.
396
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Marcio Pochmann
Assim, em pleno limiar da sociedade do conhecimento, o Brasil precisa abandonar a concepo conservadora e ultrapassada do trabalho como obrigao pela sobrevivncia para reconstituir uma nova transio do sistema escolar para o mundo do trabalho. O alongamento da expectativa mdia de vida est a exigir um novo papel educao, a estar presente de forma continuada ao longo do ciclo de vida. dentro desse contexto de transio que a recente experincia do Municpio de So Paulo de incluso social necessita ser compreendida. A estratgia paulistana de incluso social oferece uma contribuio interessante em se tratando de um novo padro de poltica pblica que combina educao e trabalho associados perspectiva de emancipao poltica, social e econmica da populao excluda. Recebido em abril de 2004 e aprovado em junho de 2004.
Notas
1. 2. Para uma breve constatao acerca da evoluo dos indicadores educacionais ver Campos et al., 2003. Considera-se sobretrabalho as situaes relativas aos ocupados com jornada de trabalho acima de 44 horas semanais, aos aposentados e pensionistas que se mantm ativos no mercado de trabalho, aos trabalhadores com mais de uma ocupao e ao trabalho de pessoas abaixo de 16 anos de idade. Sobre os dados brasileiros como desemprego e homicdios, entre outros, comparativos com 175 pases, ver Campos et al., 2004. Para uma anlise a respeito da crise da juventude no mercado de trabalho, ver Pochmann, 2000; Frigotto, 2004. Mais detalhes em
SDTS,
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2003.
Sobre isso ver Amorim & Pochmann, 2003. Para uma constatao breve ver Henriques, 2000. Para melhor anlise ver Vannuchi & Novaes, 2004. As razes para o destaque acerca da experincia de polticas pblicas praticadas pela Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade podem ser encontradas em Pinsky, 2004; Oliveira, 2004; Campos, 2004.
10. Para mais detalhes ver Pochmann, 2003 e 2002. 11. Acesso Bolsa Empreendedor mediante aprovao no processo seletivo semestral de projetos de pesquisa, conduzido a partir do Frum Setorial das Instituies de Ensino Superior, instalado no Municpio de So Paulo.
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
397
Educao e trabalho: como desenvolver uma relao virtuosa?
12. Entre 2001 e 2003, no conjunto dos distritos administrativos atingidos pela estratgia de incluso social, a taxa de homicdios por 100 mil habitantes caiu 21,8%, ao passo que nos demais distritos a reduo foi de 10,8%; ver SDTS, 2004. 13. No perodo de 2001 a 2003, a taxa de evaso caiu quase 50% nos distritos administrativos atendidos pelos programas sociais da PMSP; ver SDTS, 2004. 14. Para uma discusso mais detalhada e profunda a respeito da concepo de direitos entre a populao atingida pelos programas sociais no municpio de So Paulo, ver Campos, 2004.
Referncias bibliogrficas
AMORIM, R.; POCHMANN, M. (Org.). Atlas da excluso social no Brasil. So Paulo: Cortez, 2003. v.1. CAMPOS, A. Pobreza e direitos na cidade de So Paulo: a experincia da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade. So Paulo: FFLCH/USP, 2004. CAMPOS, A. et al. Atlas da excluso social no Brasil . So Paulo: Cortez, 2003. v.2 CAMPOS, A. et al. Atlas da excluso no mundo . So Paulo: Cortez, 2004. v.4 FRIGOTTO, G. Juventude, trabalho e educao no Brasil. In: V ANNUCHI , P.; N OVAES , R. (Org.). Juventude e sociedade . So Paulo: Fundao Perseu Abramo, 2004.
IPEA ,
HENRIQUES, R. Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: 2000.
OLIVEIRA, C.A.B. (Coord.). Polticas de combate pobreza no Municpio de So Paulo. So Paulo: Publisher, 2004. PINSKY, J. Prticas de cidadania. So Paulo: Contexto, 2004. POCHMANN, M. A batalha pelo primeiro emprego. So Paulo: Publisher, 2000. POCHMANN, M. Outra cidade possvel. So Paulo: Cortez, 2002. POCHMANN, M. Desenvolvimento, trabalho e solidariedade. So Paulo: Cortez, 2003.
398
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Marcio Pochmann
SO PAULO. Prefeitura. Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade. O jovem no mercado de trabalho brasileiro . So Paulo: PMSP/SDTS , 2003. SO PAULO. Prefeitura. Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade. Pobreza e programas sociais: resultados da estratgia paulistana de incluso social. So Paulo: PMSP/SDTS, 2004. VANNUCHI, P.; NOVAES, R. (Org.). Juventude e sociedade . So Paulo: Fundao Perseu Abramo, 2004.
Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 383-399, maio/ago. 2004
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
399
Você também pode gostar
- Anexo VIII - Modelo Projeto - Estação Juventude - ComplementarDocumento14 páginasAnexo VIII - Modelo Projeto - Estação Juventude - ComplementarEverson Batista100% (2)
- A Ignorância Custa Um Mundo PDFDocumento5 páginasA Ignorância Custa Um Mundo PDFLeonardoLeoAinda não há avaliações
- Mapa Numerológico CabalísticoDocumento62 páginasMapa Numerológico CabalísticoMirian Barbosa100% (1)
- Plano de Atendimento Familiar CreasDocumento6 páginasPlano de Atendimento Familiar CreasBruna Javorski100% (2)
- FRIGOTTO - Trabalho e EducaçãoDocumento13 páginasFRIGOTTO - Trabalho e EducaçãoDaniel VieiraAinda não há avaliações
- Nem-Nem + Juventude e ApatiaDocumento18 páginasNem-Nem + Juventude e Apatiamirella.diasAinda não há avaliações
- Tema Redacional ANGLO (XXIV) 'Importância Psicossocioeconômica (... ) ' (3a. SEM-A, 3° Bimestre, 2016) PDFDocumento4 páginasTema Redacional ANGLO (XXIV) 'Importância Psicossocioeconômica (... ) ' (3a. SEM-A, 3° Bimestre, 2016) PDFAdriano CardealAinda não há avaliações
- Juventude e Acao Sindical PDF WebDocumento86 páginasJuventude e Acao Sindical PDF WebDouglas FáveroAinda não há avaliações
- Adriane Caranhato - 11 - Jovens (Carta Aberta)Documento4 páginasAdriane Caranhato - 11 - Jovens (Carta Aberta)Adriane CaranhatoAinda não há avaliações
- sbs2009 GT09 Hustana Maria Vargas PDFDocumento20 páginassbs2009 GT09 Hustana Maria Vargas PDFdouglascarloAinda não há avaliações
- A Evolucao Da Educacao No Brasil e Seu Impacto No Mercado de TrabalhoDocumento43 páginasA Evolucao Da Educacao No Brasil e Seu Impacto No Mercado de TrabalhoRoseane Martins100% (1)
- E-Book Jovens e CurrículoDocumento17 páginasE-Book Jovens e CurrículoValériaAinda não há avaliações
- 20151026-220208 ArquivoDocumento13 páginas20151026-220208 Arquivorenam.queirozAinda não há avaliações
- A Educação de Jovens e Adultos No Século XXIDocumento20 páginasA Educação de Jovens e Adultos No Século XXITiago Simonini SilvaAinda não há avaliações
- Fiori (2005)Documento32 páginasFiori (2005)Maira FrancaAinda não há avaliações
- Jovens Que NaoDocumento18 páginasJovens Que NaoLaércio CardosoAinda não há avaliações
- DocumentoDocumento1 páginaDocumentoTheoAinda não há avaliações
- Cópia de NemNem-Redação Felipe DinizDocumento1 páginaCópia de NemNem-Redação Felipe DinizFelipe AugustoAinda não há avaliações
- LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS SOBRE EVASÃO ESCOLAR NA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: Uma Análise Documental.Documento8 páginasLEGISLAÇÃO E POLÍTICAS SOBRE EVASÃO ESCOLAR NA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: Uma Análise Documental.Celma Maria NunesAinda não há avaliações
- Desigualdade SocialDocumento6 páginasDesigualdade SocialEneas CarvalhoAinda não há avaliações
- Desigualdade (E S Brasil)Documento11 páginasDesigualdade (E S Brasil)Juliana MelloAinda não há avaliações
- REGINA - NOVAES - Os - Jovens - de - Hoje - Contextos, - Diferenças - e - Trajetórias - 2006 PDFDocumento7 páginasREGINA - NOVAES - Os - Jovens - de - Hoje - Contextos, - Diferenças - e - Trajetórias - 2006 PDFsophiamidianAinda não há avaliações
- A Juventude Brasileira e A Educacao Texto 1Documento9 páginasA Juventude Brasileira e A Educacao Texto 1Alberto ALONSO MUÑOZAinda não há avaliações
- A Juventude e A Desigualdade SocialDocumento4 páginasA Juventude e A Desigualdade SocialDaniela GamesFofaAinda não há avaliações
- Relatório Parcial IvDocumento10 páginasRelatório Parcial IvAndré Luiz CasagrandeAinda não há avaliações
- 4636-Texto Do Artigo-20254-1-10-20150819Documento5 páginas4636-Texto Do Artigo-20254-1-10-20150819Lizzy Anne NascimentoAinda não há avaliações
- Jovens Cada Vez Mais Jovens - Cap 08Documento16 páginasJovens Cada Vez Mais Jovens - Cap 08rozelipereiraAinda não há avaliações
- EJA - Ensino de Jovens e Adultos e o Mercado de Trabalho. Qual Ensino Qual Trabalho - Beatriz RomanziniDocumento23 páginasEJA - Ensino de Jovens e Adultos e o Mercado de Trabalho. Qual Ensino Qual Trabalho - Beatriz RomanziniClaudia FariaAinda não há avaliações
- Jovens de 15 A 17 Anos No Ensino Fundamental Caderno de ReflexõesDocumento8 páginasJovens de 15 A 17 Anos No Ensino Fundamental Caderno de ReflexõeselianeAinda não há avaliações
- Proposta de Redação ImpactosDocumento2 páginasProposta de Redação ImpactosPerla Porto AraújoAinda não há avaliações
- OS Nem Nem' - Uma Legião de Jovens Que Não Estuda Ou Trabalha PDFDocumento2 páginasOS Nem Nem' - Uma Legião de Jovens Que Não Estuda Ou Trabalha PDFAline Rodrigues100% (1)
- Desigualdade Social e Sistema Educacional BrasileiroDocumento9 páginasDesigualdade Social e Sistema Educacional BrasileiroPatricia SantanaAinda não há avaliações
- Reconstruindo os caminhos da Educação: desafios contemporâneos: - Volume 3No EverandReconstruindo os caminhos da Educação: desafios contemporâneos: - Volume 3Ainda não há avaliações
- Orientação Profissional e A JuventudeDocumento3 páginasOrientação Profissional e A JuventudeLarissa F.Ainda não há avaliações
- Marilia Sposito Juventude e Educaçãoo: Interações Entre Educação Formal e Não FormalDocumento16 páginasMarilia Sposito Juventude e Educaçãoo: Interações Entre Educação Formal e Não FormalMiriam LemosAinda não há avaliações
- 6431 Textodoartigo 25350 1-10-20210731 EducaoprofissionalDocumento12 páginas6431 Textodoartigo 25350 1-10-20210731 EducaoprofissionalAlexandre Jorge MachelAinda não há avaliações
- 6431 Textodoartigo 25350 1-10-20210731 EducaoprofissionalDocumento12 páginas6431 Textodoartigo 25350 1-10-20210731 EducaoprofissionalAlexandre Jorge MachelAinda não há avaliações
- Avaliação Dos Custos Econômicos Associados Aos Jovens Nem-Nem No BrasilDocumento23 páginasAvaliação Dos Custos Econômicos Associados Aos Jovens Nem-Nem No BrasilAline Gomes Moraes (Buenanine)Ainda não há avaliações
- O Cooperativismo Popular No Brasil - Importância e RepresentatividadeDocumento16 páginasO Cooperativismo Popular No Brasil - Importância e RepresentatividadeLumo Coletivo100% (7)
- O Nó, o Dilema e A Formação Na Área Da Saúde EDUCERE ET EDUCAREDocumento18 páginasO Nó, o Dilema e A Formação Na Área Da Saúde EDUCERE ET EDUCAREMônica WermelingerAinda não há avaliações
- Desigualdade Salarial e Questão de GêneroDocumento3 páginasDesigualdade Salarial e Questão de GênerosusanrafaelleAinda não há avaliações
- Segnini PDFDocumento10 páginasSegnini PDFCarlaRangelReicheVellosoAinda não há avaliações
- D06-A Educacao de Jovens e Adultos No Seculo XXDocumento13 páginasD06-A Educacao de Jovens e Adultos No Seculo XXRaylaDiasAinda não há avaliações
- 09 Juventude e TrabalhoDocumento8 páginas09 Juventude e TrabalhoLarissa AlexandreAinda não há avaliações
- Admin,+7017 47972532 1 CEDocumento15 páginasAdmin,+7017 47972532 1 CEManoela LosinnoAinda não há avaliações
- Um Retrato Da Juventude BrasileiraDocumento2 páginasUm Retrato Da Juventude BrasileiraAndreia AparecidaAinda não há avaliações
- Projeto de Vida Sob o Signo Da Reinvencao Da ScolaDocumento6 páginasProjeto de Vida Sob o Signo Da Reinvencao Da ScolaJenny LozanoAinda não há avaliações
- Souza, Anjos, Amazonas e Carvalho - Sic - 10 - Exploração Do Trabalho Infantil No Brasil, o Papel Do Eca Na Garantia Dos Direitos Às Crianças BrasileirasDocumento10 páginasSouza, Anjos, Amazonas e Carvalho - Sic - 10 - Exploração Do Trabalho Infantil No Brasil, o Papel Do Eca Na Garantia Dos Direitos Às Crianças BrasileirasElcimar JúniorAinda não há avaliações
- O futuro roubado com a reforma do Ensino Médio: dualidades educacionais, exclusão digital na pandemia da Covid-19 e o ensino politécnico como possibilidade pedagógica de formação integrada em espaços educativosNo EverandO futuro roubado com a reforma do Ensino Médio: dualidades educacionais, exclusão digital na pandemia da Covid-19 e o ensino politécnico como possibilidade pedagógica de formação integrada em espaços educativosAinda não há avaliações
- Abandono Escolar No Meio RuralDocumento16 páginasAbandono Escolar No Meio RuralSeph BladeAinda não há avaliações
- Cap 01 - Textos Introdutórios - DRC-MT EMDocumento25 páginasCap 01 - Textos Introdutórios - DRC-MT EMgleibiAinda não há avaliações
- Avanço Da Pobreza e Educação Falha - Desafios Urgentes para o PaísDocumento5 páginasAvanço Da Pobreza e Educação Falha - Desafios Urgentes para o PaísMarkus SantosAinda não há avaliações
- Educação de Jovens e Adultos e Os Direitos HumanosDocumento13 páginasEducação de Jovens e Adultos e Os Direitos HumanosMaria TorquatoAinda não há avaliações
- Educação: Coisa de Pobre para o Pobre by Pedro DemoDocumento14 páginasEducação: Coisa de Pobre para o Pobre by Pedro Demof29167104Ainda não há avaliações
- A Educação Continuada e As Políticas Públicas No Brasil EJADocumento3 páginasA Educação Continuada e As Políticas Públicas No Brasil EJAvanessa.souza.cascardoAinda não há avaliações
- Silva-FátimaPereiraAlberto2022 Article TheSilencingAndNaturalizationPDocumento19 páginasSilva-FátimaPereiraAlberto2022 Article TheSilencingAndNaturalizationPBaruc FontesAinda não há avaliações
- Aula Filo CMSP 3º Bi 2023Documento31 páginasAula Filo CMSP 3º Bi 2023ana373576Ainda não há avaliações
- 9363-Texto Do Artigo-25223-1-10-20200820Documento19 páginas9363-Texto Do Artigo-25223-1-10-20200820Anderson Avelino Batista FidelesAinda não há avaliações
- APOSTILA 1 Meotodologia.Documento5 páginasAPOSTILA 1 Meotodologia.Alan PimentaAinda não há avaliações
- Gaudêncio Frigotto - Ensino Médio e Técnico Profissional - Disputa de Concepções e Precariedade - Le Monde Diplomatique BrasilDocumento3 páginasGaudêncio Frigotto - Ensino Médio e Técnico Profissional - Disputa de Concepções e Precariedade - Le Monde Diplomatique BrasilLuiz Paulo OliveiraAinda não há avaliações
- BNCC - Ensino MédioDocumento7 páginasBNCC - Ensino MédioDouglas Cabral DantasAinda não há avaliações
- EJA No CampoDocumento54 páginasEJA No CampocolegasjnAinda não há avaliações
- A Revolução Silenciosa Do Ensino SuperiorDocumento18 páginasA Revolução Silenciosa Do Ensino SuperiorEveline GomesAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios de Estatística DescritivaDocumento6 páginasLista de Exercícios de Estatística DescritivaLaís Gebara0% (1)
- A Dor Do Adolescer PDFDocumento7 páginasA Dor Do Adolescer PDFPalabreanteser1Ainda não há avaliações
- COM 01 Ref 179-2021 - Processo Seletivo - Lista de InscritosDocumento44 páginasCOM 01 Ref 179-2021 - Processo Seletivo - Lista de InscritosEdro RibeiroAinda não há avaliações
- Desenvolvimento III FinalDocumento30 páginasDesenvolvimento III FinalAna Mara OliveiraAinda não há avaliações
- Pnpi 2020 2030Documento262 páginasPnpi 2020 2030Rodrigo De MouraAinda não há avaliações
- Truth or Beard (Winston Brothers #1) by Penny Reid-SCBDocumento480 páginasTruth or Beard (Winston Brothers #1) by Penny Reid-SCBRodrigo CaronAinda não há avaliações
- Gestão Ágil de Projetos1Documento64 páginasGestão Ágil de Projetos1Thais CarolineAinda não há avaliações
- O Luto Fraterno Durante A Infância e AdolescênciaDocumento15 páginasO Luto Fraterno Durante A Infância e Adolescênciadiana_carreiraAinda não há avaliações
- Proposta de Redaçao 2 SelfieDocumento3 páginasProposta de Redaçao 2 SelfieCris Campedeli BarneziAinda não há avaliações
- PAI Febre PediatriaDocumento95 páginasPAI Febre PediatriaEsmeralda SantosAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento2 páginasResenhaJOAO HENRIQUE ALMEIDA XAVIERAinda não há avaliações
- Sociedade, Cultura E Cidadania: Pablo Rodrigo BesDocumento23 páginasSociedade, Cultura E Cidadania: Pablo Rodrigo BesseemannjacqueAinda não há avaliações
- Exame ResumoDocumento15 páginasExame ResumoOsfémio Matsena Jr.Ainda não há avaliações
- Mini Livro Sanfona - Direitos e Deveres Das Crianças - ECADocumento2 páginasMini Livro Sanfona - Direitos e Deveres Das Crianças - ECAMary AlvarengaAinda não há avaliações
- Sexualidade Nas NEE Necessidades Educativas EspeciaisDocumento24 páginasSexualidade Nas NEE Necessidades Educativas Especiaiss_alex29100% (1)
- Folder ECADocumento2 páginasFolder ECAIvaldo JuniorAinda não há avaliações
- Guia MetodológicoDocumento58 páginasGuia Metodológicofabiolucascruz2960Ainda não há avaliações
- Mapa NumerológicoDocumento62 páginasMapa NumerológicoTatiana OliveiraAinda não há avaliações
- HalitoseDocumento46 páginasHalitoseFabricio CostaAinda não há avaliações
- Relatório Do Filme PreciousDocumento2 páginasRelatório Do Filme Preciousines azevedoAinda não há avaliações
- Projeto ProntoDocumento9 páginasProjeto ProntocristiamnsilvaAinda não há avaliações
- Quest ÕesDocumento3 páginasQuest ÕesFilipe AndradeAinda não há avaliações
- Manual Stop Bullying AI PortugalDocumento36 páginasManual Stop Bullying AI PortugalHugo DiasAinda não há avaliações
- Cidadania DigitalDocumento93 páginasCidadania DigitalMaria PaulaAinda não há avaliações
- Ed13 Agente Combate de Endemias VerdeDocumento9 páginasEd13 Agente Combate de Endemias VerdeFernando Henrique RemerAinda não há avaliações
- TCC Sobre Canto Coral PDFDocumento73 páginasTCC Sobre Canto Coral PDFAlberto NeryAinda não há avaliações
- Projeto Issqn JABAQUARADocumento14 páginasProjeto Issqn JABAQUARAAmarildo NetoAinda não há avaliações