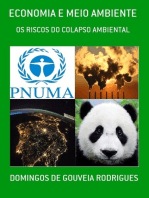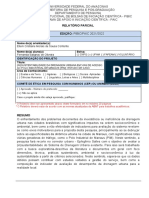Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Petrobras e o Desafio Da Sustentabilidade Ambiental
A Petrobras e o Desafio Da Sustentabilidade Ambiental
Enviado por
tha.s.bDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Petrobras e o Desafio Da Sustentabilidade Ambiental
A Petrobras e o Desafio Da Sustentabilidade Ambiental
Enviado por
tha.s.bDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
MONOGRAFIA DE BACHARELADO
A PETROBRAS E O DESAFIO DA
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
RENATA ARGENTA BAYARDINO
matrcula n 100121768
ORIENTADORA: Profa. Valria Gonalves da Vinha
NOVEMBRO 2004
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
MONOGRAFIA DE BACHARELADO
PETROBRAS E O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
__________________________________
RENATA ARGENTA BAYARDINO
matrcula n: 100121768
ORIENTADORA: Profa. Valria Gonalves da Vinha
2
NOVEMBRO 2004
3
As opinies expressas nest e trabal ho so de exclusiva responsabili dade do
(a) autor(a).
4
Dedico este trabalho aos meus pais que muito
contriburam para sua realizao.
5
AGRADECIMENTOS
Agradeo Professora Valria por sua pacincia, dedicao e carinho.
6
RESUMO
O trabalho analisa as polticas de sustent abilidade ambiental e de
responsabilidade social implant adas pela Petrobras aps os acident es que
causaram grandes impactos ambient ai s e, at mesmo, mortes. Com esta
7
poltica, a empresa procura simult aneament e, dar uma respost a sociedade
brasileira, e se enquadrar em novos padres de competitividade impost os pela
conveno do Desenvolviment o Sustent vel.
Este conceito, muito discuti do e difundi do a partir da dcada de 70,
insere- se no debate acerca dos rumos do desenvolviment o, com destaque
para as teses sobre os limites do cresciment o econmico e a escassez dos
recursos naturais. E sendo o petrleo a principal fonte energtica da
sociedade moderna , tambm, o principal alvo das crticas.
A monografia apresent a ainda a evoluo da Indst ria Mundial do
Petrleo (IMP), dest acando sua import ncia no cenrio internacional e
descreve os riscos relacionados a esta atividade.
8
NDICE
INTRODUO................................................................................................................................................... 10
CAPTULO I ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE..................................................................................12
I.1 O PAPEL DOS RECURSOS NATURAIS NO CRESCIMENTO ECONMICO.......................................................................13
I.1.1 A Revoluo Indust ri al e os Recursos Naturai s .....................................15
I.1.2 Classificao dos recursos naturai s ..........................................................16
I.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL - UM BREVE HISTRICO..................................................................................17
I.3 AS EMPRESAS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL ...........................................................................................22
I.3.1 - Certificados de Qualidade ...........................................................................24
CAPTULO II A INDSTRIA DO PETRLEO E O MEIO AMBIENTE.............................................25
II. 1 - EVOLUO DA INDSTRIA MUNDIAL DO PETRLEO ..........................................................................................26
II. 2 - OS RISCOS DE ACIDENTES NA ATIVIDADE PETROLFERA .......................................................................................31
CAPTULO III O CASO PETROBRAS.......................................................................................................35
III.1 A TRAJETRIA DA PETROBRAS - UM BREVE HISTRICO...................................................................................37
III.2 OS ACIDENTES AMBIENTAIS ENVOLVENDO A PETROBRAS........................................................................................39
III.2.1 Baa de Guanabara .......................................................................................39
III.2.2 Rio Iguau .......................................................................................................40
III.2.3 Platafor ma 36................................................................................................41
III. 3 A MUDANA DE CONDUTA APS OS ACIDENTES.................................................................................................42
CONCLUSO...................................................................................................................................................... 48
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS................................................................................................................ 51
ANEXO I.............................................................................................................................................................. 54
ANEXO II............................................................................................................................................................. 61
9
INTRODUO
A relao do homem com a nat ureza vem mudando ao longo da
histria. A utilizao dos recursos naturai s nos processos produt ivos tem
aument ado cada vez mais, principal ment e, aps a Revoluo Indust rial, pois,
com o advent o da mqui na a vapor a sociedade passou a dilapidar o estoque
de recursos nat urais intensivament e.
Porm, da mesma forma que esses recursos promovem a manut eno e
o desenvolviment o de inmeras sociedades, a explorao inadequada gera
externalidades negativas e sinaliza o esgotament o dos mesmos, levando a
emergncia da problemtica da utilizao sustent vel desses recursos.
O conceito de desenvolviment o sust ent vel tem sua origem no debat e
acadmico iniciado em Estocolmo, em 1972, e consolidado, em 1992, com a
realizao da Eco- 92. Desde ento, este tema vem ganhando fora no cenrio
mundial.
Este conceito defende que a satisfao das necessidades das geraes
atuais no pode compromet er a capacidade de satisfao das necessi dades de
geraes futuras. Recursos nat urai s muito explorados e consumi dos
atual ment e criam um problema de escassez para as geraes futuras, sendo
que o petrleo um dos mais ameaados, consi derando que a principal
fonte de energia do mundo atual. Alm disso, vrios produt os obtidos a partir
de seus derivados, tais como os plsticos e as borrachas sintticas, se
tornaram indispensveis sociedade moder na. Entretant o, o petrleo um
recurso nat ural no- renovvel que necessit a de polticas nacionai s e regionais
adequadas a fim de otimi zar o uso das reservas existentes.
Devido grande complexidade e dificuldade de extrao deste leo, a
indst ri a do petrleo uma das que mais avanaram tecnologicament e, mas,
ao mesmo tempo, a que mais risco potencial apresent a ao equilbrio
ambient al.
10
Apesar disso, h muito ainda a pesqui sar e desenvolver. Os desafios nesse
setor so enormes e s podero ser superados pela aplicao conj unt a de
esforos da comuni dade cientfica e tecnolgica e das empresas produt oras e
fornecedoras da cadeia do petrleo e gs.
A Petrobras convive com um paradoxo: a mais conceituada e popular
empresa brasileira, mas j se envolveu em vrios acidentes ambient ai s de
grande extenso. Para mini mizar os impact os desses acident es e se alinhar
tendnci a mundial, a Petrobras passou a investir pesado em polticas de
desenvolviment o sustent vel e responsabilidade social.
O objetivo deste trabal ho compreender como a Petrobras vem
trabalhando com o conceito de desenvolviment o sustent vel e como isso se
reflete nas suas prticas operacionai s.
A monografia compe- se de trs captulos. O pri meiro captulo
apresent a um panorama geral sobre a evoluo e a utilizao dos recursos
nat urai s no cenrio econmico, enfocando a diferenciao de cresciment o e
desenvolviment o econmico e o context o do surgi ment o e difuso do conceito
desenvolviment o sustent vel.
O segundo captulo relata a evoluo da indst ri a mundi al do petrleo e
sua relao com o meio ambiente, ressalt ando a relevncia econmica desta
atividade. Tambm sero apresent ados os riscos de acident es na atividade
petrolfera fornecendo instrument os para a avaliao dos acident es que
ocorreram com a Petrobras e a mudana de post ura que a empresa tomou
frente a este novo modelo empresarial de responsabilidade ambient al.
Por fim, no ltimo capt ulo descreveremos as principais caracter sticas
da poltica de desenvolviment o sustent vel da Petrobras implement ada aps
os acident es da Baa de Guanabara, Rio Iguau e Platafor ma 36, e faremos uma
anlise da influncia desses acident es na estrut ur a organi zacional da
empresa.
11
CAPTULO I ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE
Crescer o objetivo de todas as economias do mundo. Historicament e,
alcanar este objetivo no foi um processo simples e de fcil obteno. O
cresci ment o econmico resultado de uma srie de interaes e mudanas
nas estrut ur as produtivas, tecnolgicas e sociais de uma economia.
Dentre estas mudanas, destaca- se o desenvolvi ment o da capacidade
do homem em dominar a nat ureza para seu benefcio. Desde o moment o em
que ele aprendeu a controlar o fogo e desenvolveu a agricult ura, deixou de ser
apenas um membro do meio para ser um agente, com capacidade de alterar a
dinmica do meio- ambient e de forma consciente para maximi zar seu bem-
estar (RANDALL, 1987).
Com a inveno da agricultura, h cerca de dez mil anos, a humani dade
deu um passo decisivo na diferenciao de seu modo de insero na natureza,
em relao quele das demais espcies animais. A agricult ura provocou uma
radical transfor mao nos ecossistemas. A imensa variedade de espcies de
um ecossistema florestal, por exemplo, foi substit u da pelo cultivo/ criao de
umas poucas espcies, selecionadas em funo de seu valor, seja como
aliment o, seja como fonte de outros tipos de matrias - primas que os seres
humanos consideravam import ant es (ROMEIRO, 2003).
Sob a forma de recursos naturai s, o homem passou a utilizar o meio-
ambient e como provedor de confort o. Assim, muito das dinmicas
12
populacionais e da prpria prosperi dade econmica das diversas sociedades
humanas, foi influenciada pela disponi bilidade destes recursos, tant o na
forma qualitativa quant o quantit ativa.
Todavia, na mesma forma que os recursos naturais nos fornecem
confort o e promovem a manut eno e o desenvolviment o de inmeras
sociedades, a ao humana gera uma srie de externali dades e presses
negativas que se traduzem em degradao ou depreciao do meio- ambient e.
O cresciment o econmico, desta forma, um desafio ao meio- ambient e,
uma vez que existem limitaes quant o capacidade do meio em suport ar as
presses exercidas pela ao humana
1
.
O estudo da relao entre cresciment o econmico, utilizao dos
recursos naturai s e degradao ambient al essencial. Uma vez que surge um
processo cclico onde a oferta de recursos naturai s e qualidade ambient al
deter mi nam o processo de cresciment o econmico, que por sua vez gera
externalidades negativas sobre o meio- ambiente, que novament e influenciam
o nvel de cresci ment o econmico.
I.1 O Papel dos Recursos Naturais no Crescimento Econmico
A histria demonst r a que a crescent e escassez de recursos nat urais
uma preocupao recorrent e. Previses alarmant es dos possveis impactos de
uma crescente escassez de recursos vem sendo feitas h sculos. Thomas R.
Malthus previu, no fim do sculo XVIII, que uma catast rfica fome
inevitavel ment e atingiria a sociedade, porque a taxa de cresci ment o
populacional era superior taxa de produo de aliment os. Um sculo depois,
W. Stanley Jevons previu que as reservas de carvo economicament e
explorveis do Reino Unido estariam esgotadas em poucos anos, o que levaria
ao fim da prosperi dade britnica. Em 1914, a Secretaria de Minas dos Estados
Unidos previu que as reservas de petrleo americanas durariam dez anos. Em
1972, o Clube de Roma publicou o relatrio Limites do Cresciment o, no qual
previa que as reservas mundiai s de petrleo, gs natural, prat a, estanho,
1
Trade off crescimento econmico e preservao do meio ambiente.
13
urnio, alumnio, cobre, chumbo e zinco estavam se aproxi mando da exaust o
e que seus preos subiriam drasticament e nos anos segui nt es. Em todos os
casos, as previses no se confirmar am, e a economi a continuou a crescer.
Os economi st as clssicos atribuam aos recursos nat urais um papel
central nos seus estudos. Na economia clssica, a produo era vista como
sendo formada de trs fatores de produo: trabal ho, capital e terra (recursos
nat urai s). Cada um desses fatores era visto como essencial produo, sendo
que, se um dos fatores fosse manti do em quanti dade fixa, a produo
apresent aria rendi ment os decrescent es. Sendo o fator terra no- reproduzvel,
conclua- se que a economi a inevitavelment e apresent ari a taxas de
cresci ment o econmico decrescent es quando este fator fosse complet ament e
empregado. Logo, o fut uro da humani dade seria tenebroso e, no longo prazo,
o cresci ment o popul acional levaria a economia a atingir um estado em que a
produo de aliment os no seria suficient e para satisfazer totalment e as
necessi dades da crescente populao. Os primeiros economi st as clssicos
enfatizavam, que as restries impost as economi a pelo estoque finito de
recursos e pelo princpio dos retornos decrescent es, poderiam levar
sustent abili dade da economia, no sentido de que ela poderia perpet uar - se por
perodos indefinidos de tempo. Entretant o, o cenrio previst o para o futuro da
humani dade era catast rfico, prognosticando- se que, no futuro, o nvel mdio
de bem estar das pessoas seria muito desani mador (PERMAN et al., 1996).
A segunda gerao de economi st as clssicos tinha uma viso mais
otimista sobre a possibilidade de cresciment o econmico. Na viso dos
neoclssicos, a import ncia do fator terra havia sido superesti mada pelos
economi st as clssicos; os element os mais relevant es na deter mi nao do
cresci ment o econmico eram os fatores reprodut veis (capital e trabal ho) e a
inovao tecnolgica. O aument o de produtividade devido acumulao de
capital e inovao tecnolgica mais que compensavam a escassez de
recursos nat urai s. Assim, os economi st as neoclssicos no se contrapuser am
explicitament e teoria clssica, mas modificaram fundament al ment e os
rumos da economi a, ao mudar o foco da anlise. A paut a de pesquisa passava
a ser dominada pelo estudo da acumul ao de capital fsico e humano, das
14
instit uies e da inovao tecnolgica. Os recursos nat urai s foram
crescent ement e excludos da anlise. Modelos macroeconmi cos passaram
adotar uma funo de produo agregada com soment e dois fatores: trabalho
e capital. Dessa maneira, tornava- se possvel vislumbr ar um cresciment o
equilibrado, no qual a renda per capita cresceria eternament e, a uma taxa
constant e.
A mudana de atitude com relao aos recursos naturai s foi motivada
primor di al ment e por quest es de nat ureza emprica. Dcadas de cresci ment o
sem evidncias de aument o de escassez de recursos naturai s levaram os
economi st as a rever as suas previses.
I.1.1 A Revoluo Industrial e os Recursos Naturais
No final do sculo XVIII, a relao com os recursos naturai s se alterou.
Com a Revoluo Indust ri al, a renda per capita passou a crescer de forma
cont nua. As explicaes apresent adas pelos economi st as para a Revoluo
Indust ri al geral ment e destacam as mudanas na estrut ur a de incentivos que
aceleraram o processo de acumul ao de capital e inovao tecnolgica.
Um dos element os marcant es da Revoluo Indust rial foi a introduo
da mqui na a vapor, uma evidncia do papel exercido pela inovao
tecnolgica no processo de cresciment o econmico. Ela tambm represent ou
uma mudana na relao da humani dade com a nat ureza, pois como permitia
a produo de fora motri z de forma verstil, cont rolvel e constant e, a
sociedade pode aprofundar o uso de recursos naturai s para a produo de
fora.
Anterior ment e, o emprego de recursos naturai s para a produo de
fora era limitado essencialment e ao uso do animal e de moinhos de vento e
gua. A mqui na a vapor permitiu captar e empregar energia de uma forma
totalment e inovadora. Os seus operadores passaram a ter o controle total do
processo de produo, j que no havia a dependnci a de condies
climticas, a possibilidade de doenas e a necessi dade de cuidados
2
. Alm
disso, ela apresent ava uma versatilidade que permiti u a introduo de
mqui nas para realizar atividades que antes s podiam ser realizadas
2
Fatores que fragil izavam o processo quando eram util izados animais e moinhos na produo.
15
manual ment e. medi da que novas aplicaes iam sendo desenvolvidas,
observava- se ganhos de produtividade e um cresciment o econmico sem
precedent es.
Esta inovao no s intensificou o uso de recursos nat urais na
produo, mas tambm intensificou o uso dos recursos no- renovveis.
Diferent ement e dos animais ou moinhos, os recursos naturai s empregados na
mqui na a vapor, como lenha, carvo vegetal ou carvo mineral, eram
consumi dos. Nos casos da lenha e do carvo vegetal era possvel o uso de
forma sust ent vel, desde que se reflorest asse a rea para recompor o estoque
de recursos nat urais, mas, em geral, no foi isso que se observou. Com a
Revoluo Indust ri al, a sociedade comeou a dilapidar o estoque de recursos
nat urai s intensivament e.
I.1.2 Classificao dos recursos naturais
Os recursos fsicos so resultant es de ciclos naturai s do planet a Terra
que duram milhes de anos. O principal critrio para a classificao desses
recursos tem sido a capacidade de recomposio dos mesmos no horizont e de
vida humano. Os recursos nat urai s podem ser renovveis, ou reprodutveis, e
no- renovveis ou no- reprodutveis (SILVA, 2003).
Os recursos nat urais renovveis so aqueles que so passveis de se
recompor durant e o horizont e do tempo humano, como as florest as, as guas,
os solos, a fauna e a flora.
J os recursos nat urai s no- renovveis levam milhares ou at milhes
de anos para se formarem. Como exemplos, podemos citar os minrios e os
combustveis fsseis.
Segundo Margulis, os recursos renovveis possivelment e tornam- se
exaurveis, e os no- renovveis podem ao menos ser considerados no
exaurveis. Isto depender , entre outros fatores, do horizont e de
planejament o, do nvel de utilizao do recurso, dos custos de explorao, da
taxa de descont o, etc. Exemplo desta situao o petrleo, tipicament e no
renovvel, porque o tempo de sua formao contado por milhares, seno
milhes de anos. Uma florest a, por outro lado, recurso tipicament e renovvel,
16
pode tornar - se exaurvel se no processo de sua explorao forem dest ru das
as condies ecolgicas que permi tem a sua regenerao nat ural.
Outros fatores, tambm, influenciam a antecipao ou o adiant ament o
do esgotament o dos recursos como, os avanos tecnolgicos, as descobert as
de novas jazidas, os riscos, as incertezas, entre outros.
Por isso, o uso mais intensivo de recursos nat urais, devido ao seu
emprego como combustvel para produzi r energia, foi fundament al na
mudana do padro de cresciment o econmico.
O reconheci ment o do papel dos recursos nat urai s reforou muitos dos
argument os propost os para explicar a mudana no comport ament o dos
agentes econmicos: a acumul ao do capital fsico e humano, a estrut ur a de
incentivos proporcionados pelas instituies, e a definio clara de direitos de
propriedade passaram a ter nova import nci a quando comeou a se analisar o
papel dos recursos naturai s. Mais import ant e, entret ant o, foi a nova dimenso
introduzi da no debate com a incorporao dos recursos naturais: a
sustent abili dade da economi a, ou seja, a gesto de forma economicament e
racional desses recursos, sendo eles, renovveis ou no.
I.2 Desenvolvimento Sustentvel - Um Breve Histrico
Do ps- guerra at fins da dcada de 60, o debate sobre cresci ment o
econmico restri ngiu- se aos indicadores de cresciment o de produt o real ou
cresci ment o do produt o real per capita . Assim sendo, os pases desenvolvidos
eram aqueles que possuam maior taxa de cresciment o de renda per capita . Os
termos desenvolviment o e cresciment o eram usados de forma indisti nt a. No
obst ant e, o avano do debate trouxe como conseqncia a necessi dade de
distinguir os dois termos.
Cresciment o econmico entendi do como o cresci ment o contnuo do
produt o nacional em termos globais ao longo do tempo, enquant o
desenvolviment o econmico represent a no apenas o cresciment o da
produo nacional, mas, tambm, a forma como est dist ribu da social e
setorial ment e. O desenvolviment o econmico passou a ser complement ado
17
por indicadores que expressam a qualidade de vida dos indivduos: nveis de
desempr ego, educao, pobreza, condies de sade, moradia entre outros.
A evoluo do termo cresciment o econmico para desenvolvi ment o
econmico incorporou aspectos sociais e polticos objetivando indicar a
melhoria da qualidade de vida, mas o termo no consi derou as dimenses
ecolgicas e culturai s.
Somente a partir dos anos 70, comeam a surgir crticas sobre os efeitos
prejudiciais ao meio ambient e decorrent es da atividade indust rial e do
cresci ment o econmico. Alguns economist as passaram a introduzi r reflexes
sobre a questo ambient al ao criticarem os resultados do cresciment o
econmico.
A Conferncia sobre a Biosfera realizada em Paris, em 1968, mesmo
sendo uma reunio de especialist as em cincias, marcou o incio de uma
conscienti zao ecolgica internacional e teve como desdobrament o o
lanament o do Programa o Homem e a Biosfera.
Em 1970, reuni u- se o Clube de Roma alertando as autori dades para o
problema do desenvolviment o econmico, e em 1971 publicou- se um informe
denomi nado Limites do Cresciment o. Este encont ro concluiu que se as taxas
de cresci ment o demogrfico e econmico do mundo persistissem, efeitos
catast rficos ocorreriam em meados deste sculo, tais como: envenenament o
geral da atmosfera e das guas, escassez de aliment os, bem como o colapso
da produo agrcola e indust ri al, decorrent es da crescente escassez e
esgotament o dos recursos nat urais no- renovveis (LIMITES DO
CRESCIMENTO, 1971).
O Clube de Roma recomendava a conteno do cresciment o atravs de
uma poltica mundial, visando atingir um estado de equilbrio e cresci ment o
zero. Seus equvocos eram evidentes: previses catast rficas, pregao
malthusiana, desconsi derao do desequilbrio Norte- Sul e o irrealismo da
propost a cresciment o zero. Mas a fora de sua retrica foi decisiva num
ponto: o desenvolvi ment o capitalista deparava- se agora com limites fsicos a
sua expanso.
18
O Programa o Homem e a Biosfera e o informe Limites do Cresciment o
tiveram influncia decisiva na convocao pela ONU de uma conferncia
mundial sobre problemas ambient ai s.
A primeira Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente,
realizada em Estocolmo em junho de 1972, colocou a questo ambient al nas
agendas oficiais e nas organi zaes internacionais. Foi a primeira vez em que
represent ant es de governos uniram- se para discutir a necessidade de tomar
medidas efetivas de controle dos fatores que causam a degradao ambient al.
Esta reunio teve um carter primeiro- mundi st a e foi muito tcnica,
pois discutiu problemas da poluio, ligados urbani zao e qualidade de
vida nas grandes cidades.
Neste evento, populari zou- se a frase da ento primeira minist ra da
ndia, Indira Gandhi: A pobreza a maior das poluies. Foi neste context o
que os pases do Sul afirmaram que a soluo da poluio no era brecar o
desenvolviment o e sim orient ar o desenvolviment o para preservar o meio
ambient e e os recursos no- renovveis.
O document o final da Conferncia, Declarao sobre Meio Ambiente
Humano, resultou em uma agenda padro e uma poltica comum para a ao
ambient al.
A partir dessa Conferncia, quase todas as naes indust riali zadas
promulgaram legislaes e regulament os ambient ais. Alm disso, criaram
organismos ou ministrios encarregados do meio ambiente para enfrent ar de
maneira eficaz a degradao da natureza.
Organi zaes intergovernament ai s incorporar am a questo ambient al
em seus programas. Os ambient alist as e as organi zaes no- governament ai s
proliferaram em todo o mundo. Os empresri os passaram a considerar
import ant es os assunt os ecolgicos. A conscienti zao dos cidados cresceu e
a discusso foi ampliada e aprofundada.
Entretant o, houve pouco progresso no sentido de resolver as
conseqncias para o meio ambient e decorrent e do cresciment o econmico.
19
Alm disso, o aument o da popul ao e da pobreza nos pases em
desenvolviment o contribui u com a degradao ambient al.
Em 1987, a integrao dos conceitos meio ambient e e desenvolviment o
recebeu um novo impul so com o relatrio da Comisso Brundtland : Nosso
Futuro Comum. Este relatrio alertava as autori dades governament ai s a
tomarem medi das efetivas no sentido de coibir e controlar os efeitos
desast rosos da contami nao ambient al, com o intuito de alcanar o
desenvolviment o sustent vel.
Segundo este relatrio, desenvolviment o sustent vel era definido por
aquele que atende s necessidades do presente sem comprometer as geraes
futuras atenderem as suas prprias necessidades.
Os principais problemas abordados nesse relatrio foram
desmat ament o, pobreza, mudana climtica, extino de espcies, crise da
dvida, dest ruio da camada de oznio, entre outros.
As recomendaes da Comisso de Brundtland serviram de base para a
Conferncia sobre Meio Ambiente e Desenvolviment o (Eco- 92), realizada no
Rio de Janeiro, em junho de 1992. A noo moder na de desenvolviment o
sustent vel tem sua origem no debate iniciado em Estocolmo, em 1972, e
consolidado vinte anos mais tarde no Rio de Janeiro (GUIMARES, 2002).
Se Estocolmo- 72 buscava encont rar solues tcnicas para problemas
de contami nao, a Eco- 92 teve por objetivo exami nar estratgias de
desenvolviment o atravs de acordos especficos e compromi ssos dos
governos e das organi zaes intergovernament ai s, com identificao de
prazos e recursos financeiros para implement ar tais estrat gias (Becker e
Miranda org., 1997). Ela foi realizada para discutir as desigualdades Norte x
Sul e represent ou o reconheci ment o definitivo de que os problemas
ambient ais no podiam ser dissociados dos problemas do desenvolviment o.
Os document os resultant es da Eco- 92 foram a Carta da Terra
(Declarao do Rio) e a Agenda 21.
20
A Declarao do Rio visava ....estabelecer acordos internacionais que
respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de
ecologia e desenvolvi mento. .. (DECLARAO DO RIO, 1992).
J a Agenda 21 dedica- se aos problemas da atualidade e almeja
preparar o mundo para este sculo. Este document o foi assinado por 179
pases e reflete o consenso global e o compromi sso poltico no seu mais alto
grau, objetivando o desenvolviment o e o compromi sso ambient al.
Os resultados da Eco- 92 geraram repercusses ao redor do mundo,
obrigando o setor produtivo a responder ao problema, em grande parte criado
por ele, de forma eficaz. Resultou desse processo a internacionalizao do
Business Council for Sustainable Development (BCSD), ao qual foi acrescent ado
o adjetivo mundial (World). Desde ento, o WBCSD destaca- se como a mais
represent ativa entidade empresari al dedicada causa do desenvolviment o
sustent vel baseado na eco- eficincia. Atualment e, a organi zao uma
coalizo de 165 empresas de presena internacional, dist ribu das entre vinte
setores econmicos e est present e em mais de trint a pases (VINHA, 2003).
Numa reunio realizada na cidade japonesa de Kyoto, em 1997,
represent ant es de diversos pases participaram de um evento onde foi
aprovado um document o denomi nado Protocolo de Kyoto. Neste, foram
estabelecidas a propost a de criao da Conveno de Mudana Climtica das
Naes Unidas e as condies para implement ao da referi da Conveno.
Essa reunio de Kyoto foi mais uma, dent re outras reunies j ocorridas desde
a ECO 92.
A conferncia culminou na deciso por consenso de adotar - se um
Protocolo segundo o qual as naes indust riali zadas se compromet em a
reduzi r suas emisses combinadas de gases causadores do efeito est ufa em
pelo menos 5% - em relao aos nveis de 1990 - para o perodo entre 2008 e
2012. Esse compromi sso promet e produzi r uma reverso da tendncia
histrica de cresciment o das emisses iniciadas nesses pases h cerca de 150
anos.
21
I.3 As Empresas e o Desenvolvimento Sustentvel
Com a Globalizao e a difuso do conceito de Desenvolviment o
Sustentvel, as empresas viram- se pressionadas a se adapt ar s novas
exigncias do mercado mundial. Antes, s tomavam atitudes ecologicament e
corretas quando eram obrigadas pela legislao ambient al.
Segundo Lustosa, com essas mudanas, o comport ament o ambient al
das empresas passou a ser pr- ativo. As estratgias empresari ais passaram a
considerar o meio ambiente, atravs da implement ao de um Sistema de
Gesto Ambiental (SGA). O SGA permite empresa controlar eficientement e os
impactos ambient ais de todo o seu processo de produo, desde a escolha da
matria- prima at o destino final do produt o e dos resduos lquidos, slidos
e gasosos, levando- a a operar da forma mais sust ent vel possvel.
Porm, predomi nava a concepo de que meio ambient e e lucro eram
adversri os nat urais. As empresas acreditavam que a implement ao de um
SGA levaria reduo dos lucros e repassari a os custos aos consumi dores,
elevando os preos. Em grande medi da, essa crena devia- se ao fato de o
custo da tecnologia ambient al ser alto em virtude de no estar to disponvel
nem to aperfeioada quant o hoje.
Mas com o aument o da concorrncia mundial, as firmas tiveram de
buscar a reduo de custos. E isso foi fundament al para a const at ao de que
as tecnologias ambient ai s reduziam custos, pois a busca pela utilizao mais
racional dos recursos nat urai s resultou em otimizao de processos
produtivos, conservao de energia e cont role de desper dcios e,
conseqent ement e, observou- se uma reduo dos custos e dos impact os
ambient ais de suas atividades.
Este modelo de gesto, tambm conhecido com eco- eficincia, ao
substi t ui r alteraes pont uai s e dispendi osas, permiti u significativa economi a
de recursos, increment ou a produtividade e a eficincia, resultando em
vantagem de custo sobre competi dores (VINHA, 2003, p.177).
22
O World Business Council for Sustainable Development define eco-
eficincia como "entrega de bens e servios com preos competitivos que
satisfazem as necessidades humanas e trazem qualidade de vida, enquant o
reduzem progressivament e os impactos ecolgicos e a intensi dade de uso de
recursos ao longo do ciclo de vida para um nvel que esteja, pelo menos,
condi zent e com a capacidade da Terra" (WBCSD, 1999).
O WBCSD desenvolveu um conjunt o com sete component es atravs dos
quais as empresas podem melhorar sua eco- eficincia :
reduzi r o uso de materiais em bens e servios;
reduzi r o uso de energia em bens e servios;
reduzi r ou eliminar a disperso de subst ncias txicas;
elevar o ndice de reciclabilidade de materiais;
maximi zar o uso de recursos nat urai s renovveis;
aument ar a durabilidade do produt o; e
utilizar mais adequadament e bens e servios.
Os impactos ambient ais geram repercusses que abalam a confiana
dos investidores, acionistas, consumi dores e outros grupos sociais
acarretando preju zos s empresas.
Conseqent ement e, as firmas passaram a encarar os custos associados
admi nist rao do passivo ambient al como um investi ment o, j que assim, os
diversos segment os da sociedade aceitavam melhor as suas atividades. A
reput ao passou a ser o ativo mais import ant e para as empresas.
Segundo Vinha, a post ur a do setor empresarial mudou. As empresas,
que antes s realizavam aes filant rpicas isoladas e se relacionavam com
profissionai s de suas reas de atuao, passaram a ser mais transparent e e a
se preocupar com os benefcios sociais e ambient ais.
23
Passou- se a estudar e acatar as reclamaes e as expectativas de
diversos membros da sociedade (stakeholders
3
) na tomada de decises:
ambient alist as, governos locais, consumi dores, funcionri os.
As relaes com os stakeholders passaram a ser um critrio de
desempenho das companhi as, alm do desempenho financeiro. Para mant er
posio competitiva fundament al uma poltica de comunicao social bem
fundament ada.
As firmas comearam a definir metas para reduo de emisses; a criar
depart ament os especializados em meio ambient e e relaes corporativas; a
desenvolver parcerias com ONGs; e a fundar suas prprias organi zaes sem
fins lucrativos e fundaes, destinadas a gerenciar seus investi ment os em
projetos sociais.
Associado a eco- eficincia surge, ento, o conceito de Responsabilidade
Social Empresari al, que considerado o lado humano do pri meiro conceito.
Alm do aprimorament o tecnolgico, as companhi as passaram a ser
empenhar para manter uma post ur a tica nos negcios e transparncia na
comunicao com a sociedade.
I.3.1 - Certificados de Qualidade
Neste contexto, os certificados de qualidade comeam a ganhar
dest aque, porque tinham por finalidade agregar valor aos produt os e a
diferenciar as empresas realment e engajadas nos programas de gesto
ambient al, das empresas que se utilizavam da lavagem verde
4
.
Os certificados mais import ant es so o International Organization for
Standarti zation (ISO 9000 e ISO 14000), o Social Accountability (SA 8000) e
Health and Safety Management System Conformance Certification (BS
8800/ OHSAS 18001). Enquant o as normas ISO 9000 tratam da qualidade em
produt os, processos e servios da empresa, as normas ISO 14000 referem- se
gesto da qualidade ambient al. J as normas BS/OHSAS prescrevem um
sistema de gesto de sade ocupacional e segurana compatvel com a ISO
3
grupos de interesses ou partes interessadas.
4
Empresas oportunistas, que para alavancar suas imagens e cumprir a legislao ambiental,
executavam reformas simbl icas e medidas cosmticas.
24
14001. Estas normas so resultant es de todo processo de modificao de
cultura social e indust ri al decorrent e da preocupao com o meio ambient e.
A partir dos anos 90, as empresas no Brasil comearam a investir em
programas ambient ais e sociais com o objetivo de atender as reivindicaes
da sociedade que se most rava cada vez mais engajada na defesa do meio
ambient e. Com isso, essas empresas passaram a ser reconhecidas pela
sociedade.
Cada vez mais as empresas compreendem que o custo financeiro de
reduzi r o passivo ambient al e administ rar conflitos sociais pode ser mais alto
do que o custo de fazer a coisa certa, isto , de respeitar os direitos
humanos e o meio ambiente, pois influenciam a percepo da opinio pblica
sobre a companhi a, dificultando a implement ao de novos projet os e a
renovao de contrat os (VINHA, 2003).
CAPTULO II A INDSTRIA DO PETRLEO E O MEIO AMBIENTE
No sculo XX, o petrleo dest ronou o carvo como principal fonte
energtica. A sociedade moderna estabeleceu uma crescent e dependncia em
relao a esse recurso no- renovvel. Este produt o tornou- se estratgico e
estreit ament e relacionado com a soberania das naes. A maioria das guerras
do ltimo sculo estavam, direta ou indiret ament e, relacionadas com domnio
de poos, rotas e refinarias de petrleo.
A indst ria do petrleo uma evidncia contempor nea dos riscos de
acident es de grande porte, dos riscos de acidentes de trabal ho em geral e dos
mecanismos de contami nao humana e da vida animal, pesando cada vez
mais nas alteraes ambient ai s locais e planetrias
5
.
5
Ver Anexo I
25
As vrias etapas
6
da cadeia de produo dos derivados de petrleo
possuem riscos e rentabilidades distint as. Em linhas gerais pode- se dizer que
o maior risco est associado s etapas do upstream
7
. J o refino concent ra a
possibilidade de maiores ganhos. A dist ribuio e comercializao, por
demandar em os menores investi ment os, proporcionam maior rentabilidade.
II. 1 - Evoluo da Indstria Mundial do Petrleo
A indst ria mundial do petrleo (IMP) teve incio com Edwin L. Drake ,
que perfurou o primeiro poo, em Titusville, Estados Unidos, no ano de 1859.
Entre 1860 e 1870, houve uma corrida ao petrleo, com grande nmero de
pequenos produt ores explorando o mais rpido e na maior quanti dade
possvel. Essa concorrncia anrquica provocou uma enorme flutuao da
produo e nos preos e nenhuma sustent ao ao negcio petroleiro
(ALVEAL, 2003, p.3.).
Em 1870, inicia- se a segunda fase da indst ria petrolfera, que foi
marcada pelos avanos tecnolgicos e pela ascenso da Standard Oil
Company . Essa foi a primeira companhi a a obter xito na reduo de custos,
com melhoria de produtivi dade e de qualidade dos derivados. Com isso,
passou a domi nar o mercado, fundando o maior monoplio da economia
americana no final do sculo XIX, e expandi u- se para o mercado
internacional.
No entant o, em 1911, a Suprema Corte Federal dos Estados Unidos
acabou por deter mi nar a diviso da grande empresa, em 33 novas empresas.
Dessas, algumas viriam a transfor mar - se em grandes empresas
multinacionais: a Standard Oil of New Jersey, atual ment e Exxon; a Standard Oil
of New York , hoje Mobil Oil; e a Standard Oil of California , agora Chevron .
Alm dessas, duas outras empresas nascidas das descobert as de petrleo, no
Texas, tambm tornariam- se grandes sociedades da Indst ri a Mundial do
Petrleo (IMP), a Texaco e a Golf Oil1.
6
Explorao, produo, refino, transporte, distri buio e comercializao.
7
Etapas de produo e explorao.
26
Na Europa, a indst ria de petrleo surgiu de maneira menos explosiva
do que a americana devido a grande competio do carvo, alcatro, turfa e
linhita. Mesmo assim, o desenvolviment o da indst ria europia foi semel hant e
a da indst ri a americana: houve concent rao em torno de duas grandes
empresas, hoje denomi nadas de Royal Dutch Shell e British Petroleum .
A partir da Primeira Guerra Mundial, onde o petrleo e o motor de
combust o ganharam fundament al import ncia no cenrio internacional,
iniciou- se a terceira fase da IMP. Essa fase foi marcada pelas disput as para
tomar posse das jazidas de petrleo do Oriente Mdio, sia e Amrica Latina
por part e dos governos e das grandes corporaes da Europa e dos Estados
Unidos (ALVEAL, 2003).
No incio do sculo XX, comeava a competio entre o grupo Shell e a
Stardand Oil of New Jersey, a maior e mais forte empresa remanescent e da
Standard Oil Company . A tecnologia europia acabou prevalecendo e, em
1918, o grupo europeu controlava 75% da produo petroleira mundi al, fora
do mercado americano.
Nesse context o, o governo americano se esforou para manter uma
poltica de port as abertas para as companhi as norte- americanas de petrleo
no exterior, o que aument ou ainda mais a rivalidade europeu- americana. J
nest a poca as sete grandes empresas petrolferas internacionais (cinco
grandes firmas americanas e duas europi as) disput avam acirradament e
novas e melhores jazidas. Estas empresas viriam a ser conhecidas como sete
irms ou majors .
Somente em 1928, com o Acordo de Achanacarry
8
, o perodo de alta
competio oligoplica na IMP se encerrou. Esse perodo teve efeitos negativos
para as empresas, que apresent aram uma reduo no cresciment o e nos
lucros devido excessiva competio, e s com a realizao de acordos seria
possvel racionalizar a indst ri a. (ALVEAL, 2003).
Com o estabeleciment o de acordos posteriores de controle das
condies de novos entrant es na indst ri a e de fixao de preos e quot as de
8
O Acordo Achnacarry foi firmado entre a Standard Oil, a Royal Dutch Shell e a Anglo Persian
Company, a fim de "eliminar a competio, impedir excesso de produo e dividir o mundo.
27
produo, as sete irms iniciaram a fase mais duradour a de expanso
relativament e estvel na IMP.
O sistema regulador do cartel fortaleceu a posio das majors no
cenrio internacional, permi tindo a penet rao e a domi nao de vrios
mercados estrangeiros. Os acordos negociados com os pases detent ores das
melhores jazidas eram sempre favorveis majors , j que essas empresas
negociavam em conjunt o enquant o os governos atuavam isoladament e. Em
1950, as sete irms controlavam 65% das reservas mundiais, mais de 50% da
produo de leo bruto e detinham a propriedade de 70% da capacidade de
refino e de cerca de dois teros da frota mundi al de petroleiros, alm dos
mais import ant es oleodut os (PENROSE, 1968).
Durant e os anos seguint es a Segunda Guerra Mundial, tornou- se mais
claro o carter estratgico da indst ri a petrolfera, juntament e com a
indignao dos pases detent ores de grandes jazidas. Muitos deles comearam
a usar a fora de seus Estados para contrabal anar o poder de monoplio das
majors e possibilitar o desenvolviment o da indst ri a petrolfera. As solues
encont radas por esses pases foram: a interveno direta dos governos,
centrando- se no desenvolviment o de empresas estat ais de petrleo; e/ou a
interveno indireta, atravs da renegociao do sistema de concesses. Essa
ltima alternativa deu origem, em 1960, Organizao dos Pases
Export adores de Petrleo (OPEP), que objetivava just ament e enfraquecer as
companhi as petrolferas internacionai s e fixar as normas gerais da poltica
petrolfera dos pases membros.
A partir dos anos 60, o reinado das sete irms comea a se debilitar.
Alm dos fatores supracit ados, o surgi ment o de novos produt ores, o retorno
do petrleo russo ao mercado europeu e a entrada de companhi as
independent es norte- americanas e companhi as europias estatais na
indst ri a contriburam para minar o poder de cartel das majors .
A renegociao dos sistemas de concesses e o surgiment o progressivo
de empresas estat ais nos pases export adores de petrleo reuni das na OPEP
foram os grandes responsveis pela mut ao da IMP. As reservas e a produo
28
mundial passaram a ser concent radas pelas empresas dos pases da
organi zao, consolidando a estrut ur a indust ri al dos monoplios petrolferos
estatais e estabelecendo barreiras instit ucionai s entrada das companhi as
internacionai s na explorao e na produo.
Esse contexto conferiu OPEP um significativo poder de mercado at o
fim da dcada de 70, permi tindo aos pases produt ores estabelecer os preos
internacionai s de referncia do petrleo.
Em 1973, a OPEP, em represlia ao apoio dos Estados Unidos e da
Europa Ocident al ocupao de territrios palestinos por Israel, decide
estabelecer cotas de produo e quadr uplicar o preo do petrleo.
Para os produt ores, esse primeiro choque do petrleo represent ou
rpido e significativo aument o nos lucros. Os lucros advindos da export ao
do petrleo enriqueciam os pases da OPEP e reduzi am o poder aquisitivo das
naes desenvolvidas. Economias que j eram sujeitas presses
inflacionrias foram atingidas por um forte choque inflacionrio.
Com o incio da Guerra Ir Iraque, em 1979, ocorre o segundo choque
do petrleo. O Ir, que era o segundo maior exportador da OPEP, fica
praticament e fora do mercado. O preo do barril do petrleo, ento, atinge
nveis recordes e a recesso econmica mundi al do incio da dcada de 80
agravada.
No entant o, o alto preo do barril melhorou ainda mais a situao
financeira das estatais dos pases detent ores de hidrocarbonet os e de todas
as empresas produt or as da indst ri a. A situao das sete irms manti nha- se
confort vel, mesmo com o aument o da dificuldade de acesso s melhores
jazidas. O alto preo do petrleo permitia que os vrios atores desta indst ria
obtivessem rendas considerveis.
Aps os choques da dcada de 70, o cenrio de preos em alta
promoveu, por um lado, uma nova fase de abert ura da indst ri a com o
ingresso de novos produt ores e o aument o da competio. E por outro lado, o
mercado internacional de energia comeou a se reest rut ur ar e a import nci a
29
dos derivados de petrleo foi reduzi da no cenrio mundial. Quase todas as
naes desenvolvidas resistiram aos preos promovendo polticas energticas
visando minimi zar sua dependnci a em relao ao petrleo import ado,
atravs de uma srie de medidas de substit uio de derivados.
Na dcada de 80, o meio ambient e passou a fazer parte da agenda de
poltica dos governos, dos organismos internacionai s e das empresas. Novas
legislaes de preservao ambient al, que objetivavam reduzi r o nvel de
emisso de gases que provocam o efeito estufa foram implement adas. Estas
legislaes se traduzi ram na criao de impost os e taxas sobre a produo e o
consumo de derivados de petrleo (ALVEAL, 2003).
O fortaleciment o das regulament aes ambient ai s e as polticas
energticas desenvolvidas provocaram uma forte reduo das taxas de
cresci ment o da demanda de petrleo, para a qual tambm cont ribu ram a
queda do ritmo de cresci ment o econmico mundial (PINTO JUNIOR E
FERNANDES, 1998).
A oferta de hidrocarbonet o continuou abundant e, devido ao aument o
da produo dos pases no pertencent es OPEP e das companhi as
internacionai s. A fim de diminui r a dependncia em relao aos pases
produt ores, os pases consumi dores, alm das polticas energticas, passaram
a desenvolver novas reas de explorao. Com o aument o da concorrncia, a
OPEP viu seu poder de influenciar os preos do petrleo no mercado
internacional enfraqueci do. Estes passaram, ento, a ser deter mi nados pelas
cotaes do mercado spot
9
.
A queda dos preos do petrleo aps 1986 e a relativa estabilidade dos
mesmos na dcada de 90 acarretaram mudanas estrat gicas na IMP, levando
s companhi as petrolferas a implement arem polticas de reduo de custos.
Isso implicou no aument o da competio intra- indst ria o que fez acelerar o
ritmo de inovao tecnolgica na produo e na utilizao de energias
concorrent es ao petrleo.
9
Negcios realizados com pagamento vista e pronta entrega da mercadoria. A entrega, aqui, no
significa entrega fsica, mas sim a entrega de determi nado montante de dinhei ro correspondente
quantidade de mercadoria negociada.
30
O final do sculo XX foi marcado por fuses e parcerias na IMP. Elas
visavam a reunio de foras para enfrent ar os riscos ambientai s e a presso
da sociedade sobre qualidade e proteo ao meio ambiente, a necessidade de
reduo de custos, a demanda tecnolgica para produo de petrleo em
novas front eiras e adequao do parque de refino e da frota mercant e.
Grandes empresas passaram a se unir e se proteger cada vez mais para
enfrent ar os novos desafios.
II. 2 - Os riscos de acidentes na atividade petrolfera
Com os avanos tecnolgicos alcanados pela IMP, no final do sculo
XIX, os riscos se potencializaram. Os combust veis lquidos introduzi r am
novas variveis volatilidade, fluidez, inflamabilidade mais intensa que no
carvo que aument avam os riscos de acident es e facilitavam as
contami naes por infiltrao no solo e disperso nas guas (VALLE E LAGE,
2003).
Assim, na avaliao de quaisquer eventos na indst ri a petrolfera,
convenient e mant er em primeiro plano o pressupost o de que todas as suas
atividades, em todas as etapas, oferecem riscos intrnsecos e variados,
result ant es de uma estreita correlao e de uma freqent e potenciali zao
recproca entre os fatores tcnicos e as condies humanas e a variao do
ambient e natural. Seus impactos ambient ais em todo o circuito, desde o poo
at os motores e caldeiras que queimam combust veis, bem como suas
atividades de transpor t e e de produo no mar, seus equipament os especiais
de perfurao e de escoament o vm sendo objeto de vrios estudos.
Consumi r petrleo e seus derivados significa lanar na atmosfera, sob a
forma de gases e poluent es, uma massa enorme de carbono e outros
element os como enxofre e nitrognio. Estima- se, hoje, um consumo dirio de
aproxi madament e 100 milhes de barris de petrleo. Essa massa de petrleo e
gs quase toda queimada, transfor mando- se basicament e em gs carbnico.
uma massa de carbono, sem precedent es na histria, jogado artificialment e
na atmosfera.
31
A disperso desses gases e poluent es, principal ment e, em reas urbanas
pode contribuir para a ocorrncia de graves acident es, que afetam a sade da
populao e os ecossistemas da regio. Mas essa massa de gs jogada na
atmosfera apenas um dos fatores de agresso nat ureza promovido pela
indst ri a do petrleo. As agresses ocorrem em todas as etapas dessa
indst ri a.
Ainda na etapa ssmica da explorao, destinada a verificar o potencial
dos campos de petrleo, so utilizadas exploses com dinamites. O processo
de perfurao de poos despeja lamas oleosas no meio ambiente. Nas
instalaes de produo, h sempre riscos de derramament os, de incndios e,
normal ment e so descart ados rejeitos com enormes potenciais de agresso
nat ureza como as guas de produo, em geral com alta salinidade, e que so
inutilizadas ainda contendo significativas massas de leo.
Nos vrios meios de transpor t e de leo dos campos de produo at as
unidades de refino, h tambm enormes riscos envolvidos tais como
derramament os e incndios. Os principais meios utilizados so transpor t e por
gua, dutos, ferrovias ou rodovias.
Como os grandes centros consumi dores de petrleo de maneira geral
situam- se distant es dos grandes plos produt ores, os riscos esto presentes e
se multiplicam ao longo de todo o trajeto percorri do pelo petrleo em sua
viagem de seu stio de origem at as refinarias.
Os acidentes terrest res causam danos na rea onde ocorrem, o que
possibilita a fcil delimitao do local atingido. Entretant o, nos casos de
acident es na gua, os impactos tm suas dimenses ampliadas, pois so
propagados pelas corrent es, dificultando a deter mi nao das reas atingidas.
Segundo Valle e Lage, soment e aps a entrada em cena dos
combustveis lquidos, intensificada no incio do sculo XX, os impactos
ambient ais provocados pelos acident es marti mos assumi ram maiores
propores.
32
Alm da contami nao pelos despej os das embarcaes acident adas,
um novo foco de acident es no mar comeou a se projetar, a partir da dcada
de 70, decorrent e da intensificao da explorao em campos petrolferos
submari nos.
As platafor mas desenvolvidas para esses campos resultaram em
instalaes de grande porte, fixas ou mveis, capazes de abrigar tripulaes
de centenas de homens e de concent rar, em espaos reduzi dos e muitas vezes
confinados, expressivo nmero de equipament os e volumes elevados de
produt os inflamveis. Os riscos concent rados nessas unidades tm causado
acident es de grande porte, com muitas perdas humanas. O vazament o de
petrleo, provocadas por falhas nos dut os submari nos que interligam essas
platafor mas entre si ou s bases de terra, podem tambm ser causas de
acident es ambient ais relevant es (VALLE E LAGE, 2003).
Os dut os so caracteri zados por serem sistemas de transpor t e de fluxo
cont nuo e sob presso e podem ser enterrados, suspensos e subaquticos. E
por isso esto sujeitos a acident es como vazament os de gases e
derramament os de lquidos. O impacto de tais acident es pode ser agravado
em funo do tempo que o vazament o se estender e em funo da atividade
da rea afetada. Nesses casos, o risco de incndi o e exploso ser elevado se o
lquido/ gs transpor t ado for inflamvel. Um fator adicional a ser considerado
a tentativa de furto do material vazado pela populao prxima ao acident e.
O transpor t e rodovirio, o mais utilizado no Brasil, recorrent e em
acident es envolvendo combustveis lquidos, incluindo gasolina, lcool e leos,
e gs liquefeito de petrleo. Os riscos aument am quando as estradas esto em
pssi mas condies e quando os caminhes no utilizam nenhuma medida de
segurana para evitar acidentes.
Outro meio de transpor t e utilizado para conduzi r derivados do petrleo
o ferrovirio. Os acident es ferrovirios mais comuns so os
descarrilament os e os engavetament os. O roubo de carga nos ptios de
manobra pode tambm represent ar um fator de risco adicional. Todos so
33
capazes de provocar important es impactos ambient ais como contami nao do
solo, derramament os, incndios e exploses.
Alguns acidentes ferrovirios podem provocar a interdio das linhas
nos seus locais de ocorrncia por perodos de tempo mais longos do que
levaria no caso de um acidente rodovirio. Tal fato devido maior
dificuldade de acesso de socorro a esses locais e necessi dade de recompor a
via permanent e, quase sempre afetada pelo acident e, problemas que no
existem em uma rodovia.
A etapa da refinaria tambm caracteri zada por elevados riscos
sade e agresso nat ureza. A indst ri a do refino consome intensament e
gua e energia, dois insumos caros humani dade.
E a gua utilizada jogada fora contendo grande quanti dade de leo,
matrias orgnicas e metais. As refinarias so, tambm, grandes responsvei s
pela poluio atmosfrica. Pois, como so intensivas em energia e, em sua
maioria, auto- suficientes neste insumo, estas unidades so notveis
consumi dor as de petrleo e seus derivados.
Na fase de comercializao, os riscos aument am e se propagam. Como
so dispersos e de pequena extenso, passam despercebi dos, mesmo pelos
rgos de fiscalizao ambient al.
A contami nao de reas urbanas por hidrocarbonet os provenient es de
postos de servios tem sido uma preocupao crescent e nas grandes cidades,
pelo fato de que muitos desses postos mantm essas instalaes em uso por
muitos anos, sem a manut eno adequada (VALLE E LAGE, 2003, p.82).
A maioria desses postos opera com tanques vazando e com descart e de
combustveis que se infiltram nas reas vizinhas dessas instalaes podendo
atingir redes de esgotos pluviais, redes de energia, tneis de metrs e
garagens de edifcios. H tambm o risco sade pois, os frentist as,
respirando diariament e hidrocarbonet os, esto expostos diretament e a
agentes cancergenos.
34
Atualment e, todos esses potenciais riscos descrit os acima podem ser
minimi zados com a tecnologia desenvolvida pela IMP e pelo cumpri ment o da
legislao j existent e. No entant o, as prprias indst rias de petrleo, o
governo e a sociedade pouco se esforam para prevenir catst rofes e muito se
dedicam para remedi- las.
CAPTULO III O CASO PETROBRAS
No incio da dcada de 90, mesmo antes da Conferncia das Naes
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolviment o (Rio 92), a indst ri a de
petrleo comeou a se preocupar com o tema desenvolviment o sust ent vel.
Entidades como World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD) e
empresas multinacionai s, como a Shell e a antiga Britsh Petroleum (atual ment e,
BP), tomam a diant eira, definindo metas para reduo de emisso e investindo
vultosos recursos em pesqui sa de energia renovvel.
35
No Brasil, a temtica da sust ent abilidade vem sendo dissemi nada no
meio empresarial pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolviment o Sustent vel (CEBDS), entidade vinculada ao WBCSD, criada
em maro de 1997. Atualment e, o CEBDS possui 50 empresas associadas,
entre elas, a Petrobras e outras multinacionai s do setor, como a Shell e a BP. A
Petrobras ocupa um papel de dest aque, pois faz parte do Conselho de
Administ rao da entidade.
O conceito de desenvolviment o sust ent vel adotado pelo CEBDS e pela
Petrobras engloba, alm das premissas do Relatrio Brundtland
10
, a viso do
triple bottom- line, isto , buscar o equilbrio entre as trs dimenses: o
econmico, o social e o ambient al.
O setor de petrleo acredita que, apesar de trabalhar com matrias -
primas e produt os de origem no- renovvel, que so os combustveis fsseis,
possvel empregar prticas e aes preventivas que reduzam
consideravelment e o impacto de suas operaes, particular ment e, aquelas
voltadas eco- eficincia, isto , a melhor utilizao dos recursos nat urai s e a
minimi zao do desper dcio, e ao uso de fontes alternativas de energia. Alm
disso, as grandes companhi as procuram compensar seu passivo ambiental
apoiando projetos sust ent vei s promovidos por organi zaes do Terceiro
Setor. Com isso, acreditam estar atendendo as duas dimenses: a ambient al e
a social, sem que para isso seja necessrio realizar alteraes significativas de
carter tcnico e organi zacional, sob risco de compromet er sua posio
competitiva e, conseqent ement e, seu desempenho econmico.
No caso da Petrobras, uma das principai s armas a satisfao de seus
funcionri os. E o fato de a empresa adotar uma post ura social e
ambient al ment e responsvel ajuda a elevar a taxa de satisfao de seus
empregados para com a empresa, refletindo, conseqent ement e, nos
acionist as e na sociedade como um todo (AMARAL, 2002, p.62).
Neste captulo, descreveremos a trajetria da Petrobras na incorporao
dos princpios da sustent abilidade, e faremos uma anlise crtica dos
result ados desta poltica.
10
Ver Captulo I.
36
III.1 A Trajetria da Petrobras - Um breve histrico
No final da dcada de 40, cresceu a polmica sobre a melhor poltica a
ser adot ada pelo Brasil em relao explorao do petrleo. As opinies
radicalizaram, firmando- se posies opost as: havia grupos que defendiam o
regime do monoplio estat al, enquant o outros eram favorveis participao
da iniciativa privada. Depois de uma intensa campanha popular, o president e
Getlio Vargas assinou, em 3 de out ubro de 1953, a Lei 2004, que instit ui u o
monoplio estatal da pesqui sa e lavra, refino e transpor t e do petrleo e seus
derivados e criou a Petrleo Brasileiro S.A - Petrobras para exerc- lo. Em
1963, o monoplio foi ampliado, abrangendo tambm as atividades de
import ao e exportao de petrleo e seus derivados.
Na poca da criao da Petrobras, a produo nacional era de apenas
2.700 barris por dia, enquant o o consumo totalizava 170 mil barris dirios,
quase todos import ados na forma de derivados. A partir de ento, a nova
companhi a intensificou as atividades explorat ri as e procurou formar e
especializar seu corpo tcnico, para atender s exigncias da nascente
indst ri a brasileira de petrleo. O esforo permiti u o constant e aument o das
reservas, primeiro nas bacias terrest res e, a partir de 1968, tambm no mar
11
.
O ano de 1974 registra um import ant e marco na bem- sucedi da
trajet ria da Petrobras: a identificao do campo de Garoupa, a primeira
descobert a na Bacia de Campos, no litoral do estado do Rio de Janeiro.
Posterior ment e, a partir de meados da dcada de 80, a Petrobras direcionou
suas atividades de explorao, principal ment e para as regies de guas
profundas da Bacia de Campos, culminando com descobert as de campos
gigantes, como Marlim, Albacora, Barracuda e Roncador. Hoje, a Bacia de
Campos a maior provncia produt or a de petrleo do Pas e uma das maiores
provncias produt or as de petrleo em guas profundas do mundo
12
.
A Petrobras decidi u tambm ampliar o parque de refino ento
existent e
13
para reduzir os custos de importao de derivados de petrleo.
11
Em 1969, foi descoberto o campo de Guaricema, no litoral do estado do Sergipe.
12
Website da Petrobras. Histria.
13
Formado por uma refinaria em operao, outra em construo, alm de cinco refinarias particulares.
37
Assim, foi mont ado um parque com onze refinarias no Brasil e mais duas
refinarias na Bolvia. No Brasil, existem ainda duas refinarias particulares, que
j funcionavam antes da criao da Petrobrs.
Atualment e, a Petrobras transfor mou- se na maior empresa brasileira e
na 12 empresa de petrleo do mundo, segundo os critrios da publicao
Petroleum Intelligence Weekly PIW. A produo mdia total, em 2003, ficou
em 1,79 milhes de barris de leo equivalente por dia, crescendo 2,2% em
relao ao exerccio anterior; e o lucro lquido alcanou a marca de R$ 17,8
bilhes, um recorde na histria da empresa (RELATRIO ANUAL PETROBRAS,
2003).
A companhi a uma sociedade anni ma de capital abert o que, junto
com suas subsi dirias Braspet ro, Transpet r o, BR Distribui dora, Gaspet ro e
Petroquisa, atua de forma integrada
14
e especializada nos seguintes segment os
relacionados indst ria do petrleo: explorao e produo; refino,
comercializao e transpor t e; dist ribuio de derivados; gs nat ural e
petroqu mico.
Com a abert ur a do mercado brasileiro a outras empresas
15
, a Petrobras
est vivenciando novos desafios e oport uni dades de cresciment o, agora
atuando sob o regime de competio. Neste context o de flexibilizao e
aument o da competi tividade, a empresa traou uma estrat gia de
internacionali zao, preparando- se para tornar - se uma corporao
internacional de energia nos prximos anos. Atual ment e, a Petrobras, atravs
da rea de Negcios Internacional, atua nos seguintes pases: Angola,
Argenti na, Bolvia, Colmbia, Equador, Estados Unidos, Nigria, Peru e
Venezuela.
14
Do poo ao posto.
15
A parti r de novembro de 1995, em funo da Emenda Consti tucional no. 9, o Brasil passou a admiti r
a presena de outras empresas para competi r com a Petrobras em todos os ramos da atividade
petrolfera.
38
III.2 Os acidentes ambientais envolvendo a Petrobras
A Petrobras, em decorrncia da prpria nat ureza do seu negcio, j
viveu situaes de dificuldades das mais variadas, e enfrent ou todos os tipos
de crises, sejam aquelas decorrent es da escassez de recursos financeiros,
sejam decorrent es de questes de nat ureza poltica ou ambient al.
A partir de meados da dcada de 80, com a difuso dos conceitos de
desenvolviment o sust ent vel e responsabilidade social aliado ao avano
tecnolgico na rea de explorao de petrleo, os acident es de derramament o
de leo, e os impactos a eles associados, passaram a assumir mais
visibilidade, tornando essa atividade uma das principais fontes de
credibilidade e reputao.
Apesar de serem freqent es, esses acident es passam a influenciar na
imagem da Petrobras a partir de ento, levando a empresa a rever suas
estratgias no campo da responsabili dade ambiental e social. Entretant o,
acident es, como os derramament os de leo na Baa de Guanabara e no Rio
Iguau, em 2000, e a perda da P- 36, em 2001, merecem um destaque maior
porque marcaram a reest r ut ur ao e um real compromet i ment o da Petrobras
com o meio ambiente e a sociedade.
A grandiosi dade da P- 36, os dois vazament os em locais tursticos e
ambient al ment e preservados, bem como a enorme disponi bilidade das
comunicaes, permitiram que os episdios assumi ssem propores
inigualveis at hoje na vida da Petrobras e do prprio Pas.
III.2.1 Baa de Guanabara
Em janeiro de 2000, um oleodut o derramou 1,3 milho de litros de
petrleo na Baa de Guanabara, no Rio de Janeiro, agravando sua histrica
poluio e dest rui ndo manguezai s.
Considerado o segundo desast re mais grave j verificado na rea
marti ma do Rio de Janeiro, sendo apenas superado pelo acidente ocorrido
39
com o navio "TARIK", em 1975
16
, provocou graves danos ao ecossistema, o
qual, segundo especialist as, s dever recuperar suas condies normais
daqui a dez ou quinze anos.
O dut o que liga a Refinaria de Duque de Caxias ao termi nal de
abasteci ment o de navios na Ilha dgua se rompeu e o vazament o durou cerca
de trint a minut os. A falha foi verificada pelo medi dor de presso. Por causa
das mars e dos ventos, o leo vazado acabou se concent rando no fundo da
baa.
A mancha de leo se estendeu por uma faixa superior a 50 quilmet ros
quadrados, atingindo o manguezal da rea de Proteo Ambient al (APA) de
Guapimi ri m, praias banhadas pela Baa de Guanabara, inmeras espcies da
fauna e flora, alm de provocar graves prej u zos de ordem social e econmica
a populao local.
As comuni dades que tiravam seu sustent o de atividades ligadas, direta
ou indiret ament e, boa qualidade das guas da Baa de Guanabara, tais como,
a pesca e o turismo, foram muito prejudicadas, quer pela contami nao dos
peixes e crust ceos, quer pela inviabilizao do turismo pela poluio do
ambient e (REVISTA ABAMEC, 2001).
III.2.2 Rio Iguau
Em julho de 2000, a vtima foi o rio Iguau que recebeu 4 milhes de
litros de petrleo que vazaram de um oleodut o da Refinaria President e Getlio
Vargas (Repar), localizada no municpio de Araucria, no Paran. Represent ou
um trgico episdio de contami nao ambient al por vazament o de petrleo e
produt os derivados, desta vez em um rio que abriga um dos maiores smbolos
ambient ais nacionai s: as Catarat as do Iguau.
De acordo com informaes da Petrobras, do total despejado, 2,5
milhes de litros ficaram retidos no Rio Barigi. O restant e se espalhou numa
extenso de 30 quilmet ros prxi ma cabeceira do Rio Iguau.
toneladas de leo na Baa de Guanabara.
40
Alm dos funcionri os da Petrobras, a Polcia Militar, Defesa Civil,
Exrcito, tcnicos do Instit ut o Ambiental do Paran (IAP) tambm trabal haram
na conteno da mancha. Alm disso, tcnicos e equipament os da Clean
Caribbean Cooperation , entidade internacional especializada em acidentes
como este, participaram da operao.
Por se tratar de hidrocarbonet o que uma subst ncia inflamvel, as
famlias ribeirinhas
17
foram orient adas a no utilizar materiais explosivos
como cigarros ou fogos de artifcio prximo ao local atingido. Alm disso, a
instruo foi que no tivessem contat o com o leo, que poderia causar
irritao pele.
Na regio, vivem animais como capivaras, tatus, antas, alm de centenas
de aves e peixes. No trecho inicial do vazament o, de 5 km entre os rios Barigi
e Iguau, os bilogos recolheram sete animais, todos mort os, asfixiados pelo
leo. Foram os primeiros sinais da destruio provocada no ecossist ema do
Iguau.
Vale lembrar que trs semanas antes do acident e, a Petrobras / Repar
recebeu a certificao ISO14.001 e BS 8800
18
, como reconheci ment o
internacional como empresa que equilibra as necessidades de obteno de
lucro e result ado com o atendi ment o da qualidade de vida de empregados e
comuni dades atravs da proteo do meio ambient e e de prticas indust riais
seguras (REVISTA ABAMEC, 2001).
III.2.3 Plataforma 36
Em maro de 2001, ocorreram duas exploses causadas por um
vazament o de gs e leo, localizado no alto de uma coluna da P- 36. As
exploses causaram alagament o gradual da parte alta da coluna, pela rupt ur a
de vrias linhas de gua, e devido inclinao, houve uma exposio
entrada de gua do mar, levando ao alagament o progressivo de toda a coluna
e, depois, ao naufrgio, cinco dias aps as exploses. Na hora do acident e
havia 175 trabal hadores a bordo, dos quais 11 morreram.
17
Famlias que vivem prxi mas a rios.
18
Ver Captul o I
41
Imediat ament e aps a primeira exploso, iniciou- se a operao de
retirada preventiva das pessoas que estavam na platafor ma, exceto as
diretament e envolvidas no controle da emergncia. Como a P- 36 comeou a
adernar, o pouso de helicpteros ficou impossi bilitado, e o resgate dos
funcionri os teve que ser feito por barcos. Foi providenciado o transport e das
pessoas para a platafor ma P- 47, que se situava a uma distncia de 12
quilmet ros do local. Ao mesmo tempo, eram desenvolvidas aes de controle
e de atendi ment o s vtimas.
Quase todos os mortos eram funcionrios da brigada de incndio. Eles
correram para a coluna para tentar apagar o fogo e foram surpreendi dos pela
segunda exploso.
Para evitar que a P- 36 naufragasse, mergul hadores injetaram nitrognio
nas colunas para estabilizar a platafor ma. A operao de salvament o contou
ainda com o reforo de tcnicos e equipament os europeus. O mar agitado, no
entant o, fez com que a platafor ma afundasse.
O acident e, por ter ocorrido em uma rea de baixa biodiversidade na
margem continent al, felizment e no provocou graves problemas ambient ais.
O desligament o dos poos foi o principal fator para evitar um desast re
ecolgico de maior proporo, mas houve um vazament o de 1,5 milhes de
litros de leo diesel e petrleo que estavam armazenados na platafor ma, que
se estendeu por uma rea de 60 quilmet ros quadrados. Houve um receio de
intoxicao da fauna e da flora da regio devido aos compost os aromticos
conti dos no leo derramado (RELATRIO ANUAL PETROBRAS, 2001).
III. 3 A mudana de conduta aps os acidentes
Ao longo das ltimas dcadas, o Brasil vem chegando cada vez mais
perto da auto- suficincia na produo de petrleo e derivados, o que dever
ser uma realidade em 2005. Mas esta conquista da Petrobras antecipou a
necessi dade de mudana em seus modelos de segurana e gesto ambient al.
Isto ficou claro com os vazament os que ocorreram em 2000 na Baa de
Guanabara e no Paran, e cuja gravidade destoou do histrico da empresa
42
(PROGRAMA DE EXCELNCIA GESTO EM AMBIENTAL E SEGURANA
OPERACIONAL, 2001).
O vertiginoso aument o da produo de petrleo no Pas nos ltimos
anos aument ou a responsabilidade das empresas e est obrigando a Petrobras
e as demais companhi as do setor a aplicar mais recursos e novas tecnologias
na rea ambient al. A produo de petrleo no Brasil praticament e dobrou em
menos de dez anos: passou de 800 mil barris/ di as em 1996 para mais de 1,5
bilho atual ment e. O risco de acidentes aument ou na mesma proporo. O
acident e de 2000 na Baa de Guanabara tido como um divisor de guas.
Acidentes envolvendo derramament o de leo causam srios danos ao
meio ambient e e imagem das empresas. Alm disso, as multas aplicadas por
rgos ambient ai s e os efeitos da interrupo da produo geram pesados
preju zos. Por isso, em janeiro de 2001, a Petrobras criou o mais sofisticado
programa ambiental e de segurana operacional j elaborado no Pas,
coordenado por um grupo de trabalho que envolveu dez diferent es gerncias,
80 especialistas e, posterior ment e, todos os demais escales da companhi a,
nomeado como Pegaso - Programa de Excelncia em Gesto Ambient al e
Segurana Operacional.
O Pegaso prev investi ment os da ordem de R$ 3,2 bilhes em quat ro
anos e assume compromi ssos inditos no setor de explorao, como a
restaurao complet a da rede de dutos operados no Pas, instalando tambm
nessa rede uma forma automati zada de verificao permanent e (estima- se
que foram automati zados 7 mil Km2, represent ando 75% do total de dutos).
19
Com o Pegaso, surgiu a gesto integrada de Segurana, Meio Ambient e e Sade
(SMS) em toda a companhi a, envolvendo grandes investi ment os em
equipament os, instalaes e capacitao.
Segundo a assessoria da empresa, a implant ao do conceito integrado
de SMS atingiu a categoria dos grandes desafios que hoje marcam a evoluo
da Petrobras, ao lado da conquist a dos segredos do refino e da soluo dos
mistrios na explorao em guas profundas. Alm disso, esses investi ment os
trouxeram um conceito novo de atuao para evitar acident es ou, quando no,
19
Website da Petrobras. Poltica de Segurana.
43
reduzi r ao mximo seus efeitos j que as equipes treinadas para enfrent ar
conti ngncias passaram a ser manti das em pronti do 24 horas, de maneira a
permitir a interveno rpida em qualquer pont o do territrio nacional.
Foram implant ados 9 (nove) Centros de Defesa Ambiental (CDA) nas
principais reas de atuao, em vrios estados do pas, para agir prontament e
em caso de acident es. Em cada um deles atuam em mdia 20 especialistas,
aptos a comandar, em caso de emergncia, centenas de pessoas. Sua rotina
inclui simulaes freqent es e o monitorament o das condies ambient ai s
locais, para antecipar as providncias necessrias em caso de acidente. De
acordo com a Petrobras, os CDAs deram origem ao primeiro complexo de
segurana ambient al da Amrica do Sul (PROGRAMA DE EXCELNCIA EM
GESTO AMBIENTAL E SEGURANA OPERACIONAL, 2001).
Os Centros de Defesa Ambient al tambm trabal ham junto s
universi dades no levantament o da sensibilidade ambient al das regies em que
atuam. So verificadas as reas mais sensveis e o impact o de um possvel
derramament o de leo nestas regies, e so feitos tambm levant ament os
socioeconmi cos de todas as reas prximas s atividades dos CDAs, para
que se possa trabal har considerando todas essas variveis.
Alm disso, os termi nai s martimos em rea de grande sensibilidade,
como Baa de Guanabara (RJ), So Sebastio (SP) e Sergipe, receberam, cada
um, uma embarcao especializada no controle de vazament os.
Outro objetivo do Pegaso diz respeit o qualidade. Uma das principai s
metas do programa era a certificao de todas as Unidades de Negcio da
Petrobras pelas normas ISO 14001 e BS 8800/ OHSAS 18001. E esse objetivo foi
conquist ado, pois, a totalidade das unidades operacionais da Petrobras
operam com licenas ambient ai s
20
ou amparadas por acordos especficos de
ajuste de condut a. Segundo o Relatrio Anual da Petrobras, a empresa
concluiu, em 2003, o cumpri ment o do Termo de Compromi sso para Ajuste
Ambient al, o maior acordo desse tipo firmado no pas, envolvendo um
investi ment o de R$ 192 milhes e mais de 40 projetos com a finalidade de
promover melhorias na Reduc e no termi nal da Ilha dgua, no Rio de Janeiro.
20
Ver Anexo II
44
Ainda visando a maximi zar a sustent abilidade de seu negcio, o
programa estabeleceu que US$ 25 milhes por ano devero ser investi dos no
desenvolviment o de fontes de energia renovveis. Diversos projetos nessa
rea esto em execuo no Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES) e em
outros rgos, envolvendo biocombust veis, biomassa, energia elica, energia
solar e a aplicao de clulas a combustvel. Destacam- se, tambm, os
esforos no senti do de ampliar a participao na matri z energtica brasileira
do gs natural, um combustvel ecologicament e mais limpo.
Com o Pegaso, a companhi a assumi u compromi ssos com cerca de
quat ro mil projetos de diversos perfis. Nas reas de alta sensibilidade
ambient al, onde passam os dutos, visando assegurar sua integridade, a
Petrobras e sua subsi diria Transpet r o buscaram envolver as popul aes
locais em processos de comunicao de riscos, em projetos de educao
ambient al e de melhoria da qualidade de vida. Entre os projetos, destaca- se o
"Convivncia e Parceria", destinado conscienti zao de uma populao de
mais de um milho de habitant es que residem ao longo do duto Barueri -
Utinga (Obati), em So Paulo, e que mereceu da Associao dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) o Prmio Top Social 2002.
Este tipo de projeto se enquadr a numa forma moder na de
relacionament o com seus grupos de interesse (stakeholders ), que reconhece a
import ncia de envolver represent ant es da sociedade civil organi zada,
particular ment e as ONGs, e das comuni dades do entorno do empreendi ment o
nos planos e atividades da empresa, estendendo a responsabilidade
corporativa tambm a esses pblicos, e no apenas a acionistas e
funcionri os. Com isso, a poltica de comunicao instit ucional deve sofrer
mudanas, e ser acompanhada pela estrut ur a organizacional que a suport a.
(VINHA, 2001).
Todas as atividades e investi ment os da Petrobras esto sob observao
de uma auditori a externa. o caso da implant ao do sistema de invent rio,
monitorament o e gerenciament o das emisses atmosfricas de
responsabilidade da companhi a. So vinte mil fontes de emisso que esto
sendo identificadas e catalogadas.
45
Embora a Petrobras encare a atividade de monitorament o como uma
iniciativa pr- ativa e de responsabilidade social, o fato que a empresa estava
bast ant e atrasada neste aspect o, visto que todas as grandes companhi as
multinacionais j fazem medies h algum tempo, sendo que algumas, como
a Shell e a BP, vem impondo metas de reduo de emisso desde 2001, razo
pela qual ambas fazem parte do ndice de sustent abilidade ambient al do Dow
Jones (Dow Jones Index Sustainability), criado para aferir o desempenho
ambient al das companhi as com aes negociadas na Bolsa de Nova York,
especialment e com relao ao chamado risco carbono. Investidores de todas
as partes do mundo acompanham esse indicador para saber como as
empresas se adaptam s novas exigncias ambient ai s.
Aps duas tentativas, em 2004, a Petrobras afirma que passou a
integrar o Dow Jones de sust ent abilidade. Mas vale observar que, segundo o
website do Dow Jones, a Petrobras ainda no foi aceita por no atender a um
requisito (no possuir declarao de emisses nem metas de reduo) e seu
nome no const a entre os membros do Dow Jones Index Sustainability . A
empresa, certament e, ser aceita assi m que o sistema de invent ri o tiver seus
primeiros result ados.
Mesmo assim, a companhi a j obtm outros resultados prticos com a
definio de parmet r os mais rigorosos na gesto de SMS: no primeiro
semest re de 2003, conseguiu renovar os contrat os de seguro com uma
reduo de 42% em relao ao prmio anterior, mesmo com o aument o do
mont ant e segurado, que passou de US$18 bilhes em 2002, para US$ 21
bilhes, em 2003, uma conseqnci a dos investi ment os na rea (RELATRIO
ANUAL PETROBRAS, 2003).
Em quatro anos, a Petrobras investiu R$ 6,1 bilhes em programas de
controle de impacto ambient al e em programas de preveno de acident es de
trabalho. Somente em 2003, os gastos no Pegaso totalizaram R$ 2,3 bilhes. O
result ado obtido foi a queda na taxa de vazament o que, em 2000, por
exemplo, chegou ao patamar de 5.983 m
3
, e em 2003, ficou no nvel de 276m
3
.
O mesmo pode ser observado com a taxa de acident ados com afast ament o,
46
que recuou de 9,58, em 1997, para 1,21, em 2003 (RELATRIO ANUAL
PETROBRAS, 2003).
47
CONCLUSO
O cresciment o econmico o resultado de uma srie de interaes e
mudanas nas estrut ur as produtivas, tecnolgicas e sociais de uma economia.
O estudo da relao entre cresciment o econmico, utilizao dos recursos
nat urai s e degradao ambient al essencial, uma vez que a oferta de recursos
nat urai s e a qualidade ambient al deter mi nam o processo de cresciment o
econmico, que por sua vez gera externalidades negativas sobre o meio
ambient e, que novament e influencia o cresciment o econmico.
O problema da escassez dos recursos naturai s esteve present e no
debate acerca do cresciment o econmico desde o fim do sculo XVII quando
Malthus previu uma escassez de aliment os devido ao cresciment o exponencial
da populao, passando por Jevons com o esgotament o das reservas de carvo
na Inglaterra at o relatrio publicado, em 1972, Limites do Cresciment o.
Contudo, nenhuma dessas previses de concretizou.
Para os economi st as clssicos, que consideravam trs fatores de
produo (terra, trabal ho e capital), a economi a apresent ari a taxas
decrescent es de cresciment o quando um fator, no caso terra, fosse
complet ament e empregado. J na viso dos neoclssicos, os element os
deter mi nant es do cresciment o seriam os fatores reprodut veis (capital e
trabalho) e a inovao tecnolgica. Dessa forma o aument o de produtividade
result ant e da acumulao de capital e da inovao tecnolgica, mais que
compensari a a escassez de recursos naturais. Desde ento, os modelos
macroeconmicos passaram a adot ar uma funo de produo agregada com
soment e dois fatores: capital e trabal ho.
A Revoluo Indust ri al mudou a relao da sociedade com a natureza.
Com o total domnio do processo produtivo, o homem passou a explorar
maciament e os recursos nat urai s. Como conseqnci a disso, chegamos a este
milnio com algumas presses ambient ais srias, entre elas, a
sustent abili dade econmica do petrleo como principal fonte de energia.
48
Somente a partir dos anos 70, comearam a surgir crticas sobre os efeitos
prejudiciais ao meio ambient e decorrent es da atividade indust rial e do
cresci ment o econmico, levando alguns economist as a refletir sobre os limites
explorao dos recursos naturais.
Como conseqnci a dessas crticas e reflexes sobre o fut uro da
humani dade surgiu um novo conceito de desenvolviment o: o desenvolviment o
sustent vel, que ganhou expresso entre o empresari ado a partir da
realizao da Eco- 92 levando as empresas a se adapt ar aos novos paradigmas
do mercado mundial.
O sculo XX foi o sculo do petrleo. A IMP apresent ou um espetacular
cresci ment o, colocando as empresas petrolferas em evidncia, bem como seu
potencial de risco ambient al. e de acidentes de trabalho.
A produo do petrleo envolve numerosos e graves riscos ao meio
ambient e desde o processo de extrao, transpor t e, refino, at o consumo,
com a gerao de gases que poluem a atmosfera. Os piores danos acontecem
durant e o transpor t e de combustvel, com vazament os em grande escala dos
oleodut os e dos navios petroleiros.
Sendo a principal fonte energtica do atual modelo de desenvolviment o,
a extrao do combustvel fssil sempre foi tolerada, justificando- se os
problemas ambient ai s e os acident es por ela gerados. Porm, a conveno do
desenvolviment o sustent vel , atual ment e, uma realidade no mercado,
mudando o padro de concorrncia, sobret udo nos setores potencialment e
mais poluent es. A sociedade em geral est mais conscient e e, por isso, mais
exigente e menos tolerant e com o tratament o tradicional ment e conferido ao
meio ambiente. Paralelament e, emerge um moviment o de responsabilidade
social corporativa, fruto da presso social e regulatria, que tem na
conservao ambient al o seu principal foco.
A excelncia em gesto ambient al hoje standar d nas grandes
empresas lderes, tornando- se um fator de diferenciao competitiva entre os
maiores nomes do ramo do petrleo.
49
Neste trabalho foi analisado o caso da Petrobrs, enfocando os
acident es de grandes repercusses em que a companhi a esteve envolvida, os
vazament os de leo na Baa de Guanabara e no rio Iguau e a perda da P- 36, e
a sua mudana de estrat gia no campo da responsabilidade scio- ambient al.
Em 50 anos de atividade, a Petrobrs foi uma empresa de enorme
sucesso porque conseguiu responder as necessidades energticas do pas,
aliada a uma poltica de desenvolviment o econmico. inquestionvel o fato
de que a empresa foi uma alavanca da indust rializao nacional, mas os
crescent es, e cada vez mais graves, acident es que causou ao longo do tempo,
abalaram a imagem positiva que a sociedade tinha da empresa, sobret udo sua
mundial ment e reconheci da competncia tecnolgica.
Aps tomar medidas paliativas para resolver os problemas gerados
pelos acidentes, a Petrobras resolveu adotar uma post ura ambient al e
socialment e responsvel de forma estrut ur al, levando- a a mudar, inclusive,
sua misso corporativa e elaborar um novo planejament o estrat gico.
O vazament o de leo na Baa de Guanabara, em janeiro de 2000,
mostrou que todos os investiment os realizados, at ento, em segurana e
meio ambient e no haviam sido suficient es. Este acidente resultou na
assinat ur a de um Termo de Ajuste de Condut a (TAC) entre a empresa e os
rgos, envolvent o parcerias com entidades da sociedade civil na
implement ao de uma sria e aes corretivas e compensat ri as. Na rea
ambient al, a respost a veio com um programa que considerado pela empresa
como uma revoluo interna: o Pegaso o maior programa ambient al e de
segurana operacional j posto em prtica no Brasil.
A empresa realizou mudanas estrut ur ai s, internali zando o conceito de
desenvolviment o sustent vel como estratgia empresarial, e passou a
const r ui r sua reput ao com atitudes e com o engajament o nas questes de
responsabilidade social e ambiental coorporativa, dando visibilidade de suas
aes a seus stakeholders .
Atualment e, a Petrobras admite que a funo da empresa no se resume
a dar lucro e emprego, e a pagar impost os e respeitar a lei. Para demonst r ar
50
que mudou, vem aument ando, progressivament e, o investi ment o espont neo
na rea social. E tambm admite que, ao produzi r, interage com o meio
ambient e e consome recursos nat urais que so patri mni o de todos. Por isso,
reconhece que seu dever prestar contas sociedade sobre o impact o de suas
atividades e dar sua contribuio para o desenvolviment o sustent vel.
Acidentes como os ocorridos em 2000, envolvendo vazament os de leo
em grandes propores e em diferent es regies do Pas Baa de Guanabara
(RJ) e do Rio Iguau (PR) most ram que a quest o ambient al permanece um
grande desafio para o setor. evidente que, apesar dos esforos em obter
certificaes, a necessi dade de aperfeioament o de normas e padres ainda
grande, demandando esforos contnuos de melhoria por part e da Petrobras.
O Pegaso um programa pioneiro no Pas que pretende estreitar cada
vez mais a relao da companhi a com a sociedade, satisfazendo seus anseios
por segurana e preservao ambient al.. Contudo, as medidas mitigadoras
destinadas a reparar danos ambient ais, e os vultosos investiment os que a
empresa vm fazendo na rea social, ainda no permitem uma avaliao mais
precisa. A histria, portant o, est por julgar os result ados da poltica de
sustent abili dade desta nova fase da Petrobras.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVEAL, Carmen. Evoluo da indstria de petrleo : A grande
transfor mao. Apostila didtica, mimeo. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2003.
ALVEAL, Carmen. Evoluo da indstria do petrleo : Nasciment o e
desenvolviment o. Apostila didtica, mimeo. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2003.
BANCO MUNDIAL. World devel opment report : Development and environment .
Washington: Oxford University Press; Rio de Janeiro: Fundao Getlio
Vargas, 1992.
51
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL (BNDES).
Estudos Setoriais . htt p: / / www.bndes.gov.br / . Acesso em 20/ 11/ 2003.
BECKER, B. K. e MIRANDA, M. (orgs.). A geografia poltica do
desenvol vi ment o sustentvel . Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.
DIAS, Genebal do Freire. Pegada ecolgica e sustent abili dade humana. So
Paulo: Gaia, 2002.
FREITAS, C. M. de; SOUZA, M. F. de; e MACHADO, J. M. H. (orgs). Acidentes
industriais ampliados : Desafios e perspectivas para o controle e a
preveno. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.
KUZNETS, S.S. Teoria do cresci ment o econmi co moderno . Rio de Janeiro :
Zahar, 1974.
LUSTOSA, Maria Ceclia Junqueira. Indust ri alizao, meio Ambient e e
competitividade. So Paulo: Campus, 2003. cap. 6, p. 155- 172. In:
Economia do meio ambiente : Teoria e prtica.
MARGULIS, Sergio (ed.). Meio ambiente : Aspectos tcnicos e econmicos.
Braslia: IPEA,1996.
PENROSE, E.. The large internat ional firm in developi ng countries : The
internat ional petroleum indust ry. London: George Allen and Unwin Ltd.,
1968.
PERMAN, R.; MA, Y.; McGILVRAY, J. Natural resource & environment al
economi cs . Essex: Addison Wesley Longman Limited, 1996.
PETROBRAS. Responsabilidade Social e Ambiental .
http: / / www. pet robr as. com. br / . Acesso em 15/ 06/ 2004.
PETROBRAS. Programa de Excelncia em Gesto Ambiental e Segurana
Operacional . Rio de Janeiro: Petrobras, 2001.
PETROBRAS. Relatrio anual 2001 . Rio de Janeiro: Petrobras, 2002.
PETROBRAS. Relatrio anual 2002 . Rio de Janeiro: Petrobras, 2003.
52
PETROBRAS. Relatrio anual 2003 . Rio de Janeiro: Petrobras, 2004.
PINTO JUNIOR, H. Q. e FERNANDES, E. S. L. O mercado internacional do
petrleo e o comportament o dos preos . Nota tcnica n 02/ 98. Agncia
Nacional do Petrleo, mimeo. Julho de 1998.
RANDALL, A. Resource economi cs : An economic approach to nat ural
resource and environment al policy. 2.ed.. New York: John Wiley & Sons,
1987.
ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Economia ou economia poltica da
sustent abili dade. In: LUSTOSA, M.C.; MAY, P.; VINHA V.G da. Economia do
meio ambiente : Teoria e prtica. So Paulo: Campus, 2003. p. 1- 29.
SCHHIMIDHEINY, S. Mudando o rumo : Uma perspectiva empresari al global
sobre o desenvolviment o e o meio ambient e. Rio de janeiro: Fundao
Getlio Vargas, 1992.
SILVA, Maria Amlia Rodrigues da. Economia dos recursos naturais. In:
LUSTOSA, M.C.; MAY, P.; VINHA V.G da. Economia do meio ambiente :
Teoria e prtica. So Paulo: Campus, 2003. p. 33- 59.
VALLE, Cyro Eyer do e LAGE, Henrique. Meio ambiente : Acident es, lies,
solues. So Paulo: Senac, 2003.
VINHA, Valria da. As empresas e o desenvolviment o sustent vel: Da eco-
eficiencia responsabili dade social corporativa. So Paulo: Campus, 2003.
cap. 7, p. 173- 195. In: Economia do meio ambiente : Teoria e prtica.
______________. A conveno do desenvol vi ment o sustentvel e as
empresas eco- comprometi das . Tese de Doutorado. CPDA/UFRRJ. Maro
de 2000.
VINHA, Valria da, EBRAICO, Paula R. Estratgias empresariais e a gesto do
social : O dilogo com os grupos de interesse (Stakeholders ). Anais do IX
Congresso Brasileiro de Energia e IV Simpsio Latino Americano de
Energia. Maio de 2002.
53
Revista Abamec . Meio Ambient e: Petrobrs most ra resultados. Rio de Janeiro,
v. 30, n. 2, p. 18- 21, maro 2002.
Revista Abamec..Petrobrs: Desenvolviment o Sustentvel a regra. Revista
Abamec , Rio de Janeiro, v.21, n. 9, p. 12- 20, setembro 2001.
ANEXO I
Fonte: website da Ambientebrasil
Principais Acidentes da Indstria Petrolfera no Mundo
I - Principais Acidentes com Petrleo e Derivados no Brasil
Maro de 1975 - Um cargueiro iraniano fretado pela Petrobrs
derrama 6 mil toneladas de leo na Baa de Guanabara RJ.
Outubro de 1983 - 3 milhes de litros de leo vazam de um oleodut o
da Petrobrs em Bertioga SP.
Fevereiro de 1984 93 mort es e 2.500 desabrigados na exploso de
um dut o da Petrobrs na favela Vila Soc, Cubato SP.
Agosto de 1984 Gs vaza do poo submari no de Enchova (Petrobrs):
37 mort os e 19 feridos na Bacia de Campos RJ.
54
Julho de 1992 Vazament o de 10 mil litros de leo em rea de
manancial do Rio Cubato SP.
Maio de 1994 2,7 milhes de litros de litros de leo poluem 18 praias
do litoral norte paulist a.
Maro de 1997 - O rompi ment o de um duto da Petrobrs que liga a
Refinaria de Duque de Caxias ao terminal DSTE - Ilha Dgua provoca o
vazament o de 2,8 milhes de leo combustvel em manguezai s na Baa
de Guanabara - RJ.
Julho de 1997 - Vazament o de FLO (produt o usado para a limpeza ou
selagem de equipament os) no rio Cubato SP Petrobras.
Agosto de 1997 - Vazament o de 2 mil litros de leo combustvel atinge
cinco praias na Ilha do Governador - RJ Petrobras.
Outubro de 1998 - Uma rachadur a de cerca de um metro que liga a
refinaria de So Jos dos Campos ao Terminal de Guararema, ambos em
So Paulo, causa o vazament o de 1,5 milho de litros de leo
combustvel no rio Alambari. O dut o estava h cinco anos sem
manut eno Petrobras.
Agosto de 1999 - Vazament o de 3 mil litros de leo no oleodut o da
refinaria da Petrobrs que abastece a Manaus Energia (Reman) atinge o
Igarap do Cururu - AM e Rio Negro.
Agosto de 1999 - Na Repar (Petrobrs), em Curitiba PR, houve um
vazament o de 3 metros cbicos de nafta de xisto, produt o que possui
benzeno. Durant e trs dias o odor praticament e impedi u o trabal ho na
refinaria.
Agosto de 1999 - Menos de um ms depois, novo vazament o de leo
combustvel na Reman, pelo menos mil litros de leo contami naram o
rio Negro - AM - Petrobrs.
Novembro de 1999 - Falha no campo de produo de petrleo em
Carmpolis - SE provoca o vazament o de leo e gua sanitria no rio
Siriri. A pesca no local acabou aps o acident e - Petrobrs.
Janeiro de 2000 - O rompi ment o de um duto da Petrobrs que liga a
Refinaria Duque de Caxias ao terminal da Ilha d'gua provocou o
vazament o de 1,3 milho de leo combustvel na Baa de Guanabara. A
mancha se espal hou por 40 quilmet ros quadrados.
Janeiro de 2000 - Problemas em um duto da Petrobrs entre Cubato e
So Bernardo do Campo SP, provocam o vazament o de 200 litros de
55
leo diluente. O vazament o foi contido na Serra do Mar antes que
contami nasse os pont os de captao de gua potvel no rio Cubato.
Fevereiro de 2000 - Transbor dament o na refinaria de So Jos dos
Campos - SP, provoca o vazament o de 500 litros de leo no canal que
separa a refinaria do rio Paraba Petrobras.
Maro de 2000 - Cerca de 18 mil litros de leo cru vazaram em
Tramanda - RS, quando eram transferi dos de um navio petroleiro para
o Terminal Almirant e Soares Dutra (Tedut), da Petrobras, na cidade. O
acident e foi causado pelo rompi ment o de uma conexo de borracha do
sistema de transfernci a de combustvel e provocou mancha de cerca de
trs quilmet ros na Praia de Jardim do den.
Maro de 2000 - O navio Mafra, da Frota Nacional de Petrleo,
derramou 7 mil litros de leo no canal de So Sebastio - SP. O produt o
transbor dou do tanque de reserva de resduos oleosos, situado no lado
esquer do da popa.
Junho de 2000 - Nova mancha de leo de um quilmet ro de extenso
apareceu prxi mo Ilha d'gua, na Baa de Guanabara. Desta vez, 380
litros do combustvel foram lanados ao mar pelo navio Cantagalo, que
prest a servios a Petrobras. O despejo ocorreu numa manobra para
deslast reament o da embarcao.
Julho de 2000 4 milhes de litros de leo foram despejados nos rios
Barigi e Iguau Pr, por causa de uma rupt ur a da junta de expanso
de uma tubulao da Refinaria Presidente Getlio Vargas - Petrobrs.
Julho de 2000 - Um trem da Companhi a Amrica Latina Logstica -
ALL, que carregava 60 mil litros de leo diesel descarrilou em
Fernandes Pinheiro - PR. Parte do combustvel queimou e o resto vazou
em um crrego prxi mo ao local do acident e.
Julho de 2000 - Uma semana depois, na mesma regio, um outro trem
da Companhi a Amrica Latina Logstica - ALL, que carregava 20 mil
litros de leo diesel e gasolina descarrilou. Parte do combustvel
queimou e o resto vazou em rea de preservao permanent e.
Setembro de 2000 - Um trem da Companhi a Amrica Latina Logstica -
ALL, com trinta vages carregando acar e farelo de soja descarrilou
em Morretes - PR, vazando quat ro mil litros de combustvel no crrego
Caninana.
Novembro de 2000 86 mil litros de leo vazam de um cargueiro da
Petrobras e a poluio atinge praias de So Sebastio e de Ilhabela SP.
56
Fevereiro de 2001 Um duto da Petrobras rompe, vazando 4 mil litros
de leo diesel no Crrego Caninana, afluent e do Rio Nhundiaquar a, no
Paran. Este vazament o trouxe grandes danos para os manguezai s da
regio, alm de contami nar toda a flora e fauna.
Abril de 2001 Acidente com um caminho da Petrobrs na BR- 277
entre Curitiba - Paranagu, ocasionou um vazament o de quase 30 mil
litros de leo nos Rios do Padre e Pintos.
Abril de 2001 - Vazament o de leo do tipo MS 30, uma emulso
asfltica, atingiu o Rio Passana, no municpio de Araucria, PR.
Maio de 2001 - Um trem da Ferrovia Novoeste descarrilou despej ando
35 mil litros de leo diesel em uma rea de Preservao Ambient al de
Campo Grande, MS.
Maio de 2001 - O rompi ment o de um duto da Petrobrs em Barueri -
SP, ocasionou o vazament o de 200 mil litros de leo que se espalharam
por trs residncias de luxo do Condom nio Tambor 1 e atingiram as
guas do Rio Tiet e do Crrego Cachoeiri nha.
Junho de 2001 - A Constr ut or a Galvo foi multada em R$ 98.000.00
pelo vazament o de GLP (Gs liquefeito de petrleo) de um duto da
Petrobrs, no km 20 da Rodovia Castelo Branco, uma das principai s
estradas do Estado de So Paulo. O acident e foi ocasionado durant e as
obras da empresa que cont rat ada pelo governo do Estado, e teve
multa aplicada pela Cetesb - Companhi a Estadual de Tecnologia de
Saneament o Ambient al .
Agosto de 2001 - Um vazament o de leo atingiu 30 km nas praias do
litoral norte baiano entre as localidades de Buraquinho e o balnerio da
Costa do Saupe. A origem do leo rabe.
Agosto de 2001 - Vazament o de 715 litros de petrleo do navio
Princess Marino na Baa de Ilha de Grande, Angra dos Reis - RJ.
Setembro de 2001 - Vazament o de gs nat ural da Estao Pitanga da
Petrobras a 46 km de Salvador - BA atingiu uma rea de 150 metros em
um manguezal.
Outubro de 2001 - O navio que descarregava petrleo na monobia da
empresa, a 8 km da costa, acabou vazando 150 litros de leo em So
Francisco do Sul SC.
Outubro de 2001 - O navio petroleiro Norma que carregava nafta, da
frota da Transpet r o - subsi diria da Petrobras, chocou- se em uma
pedra na baa de Paranagu, litoral paranaense, vazando 392 mil litros
do produt o atingindo uma rea de 3 mil metros quadrados. O acident e
57
culminou na morte de um mergul hador que efetuou um mergul ho para
avaliar as condies do casco perfurado.
Fevereiro de 2002 - Cerca de 50 mil litros de leo combust vel
vazaram do transatlntico ingls Caronia, atracado no Pier da Praa
Mau, na Baa de Guanabara - RJ.
Maio de 2002 - O navio Brotas da Transpet r o, subsidiria da Petrobras,
derramou cerca de 16 mil litros de petrleo leve, na baa de Ilha Grande,
Angra dos Reis - RJ. O vazament o foi provocado provavelment e por
corroso no casco do navio.
Junho de 2002 - Vazament o de leo diesel num tanque operado pela
Shell no bairro Rancho Grande de Itu - SP, cerca de oito mil litros de
leo vazaram do tanque, contami nando o lenol fretico, que acabou
atingindo um manancial da cidade.
Junho de 2002 - Um tanque de leo se rompeu no ptio da empresa
Ingrax, em Pinhais, em Curitiba - PR, deixando vazar 15 mil litros da
subst ncia. O leo que vazou um derivado do petrleo altament e
txico, que atingiu o Rio Atuba, prxi mo ao local, atravs da tubulao
de esgoto.
Agosto de 2002 - 3 mil litros de petrleo vazaram de um navio de
bandeira grega em So Sebastio - SP. Um problema no equipament o de
carregament o de leo teria causado o despej o do produt o.
Junho de 2003 - Aproximadament e 25 mil litros de petrleo vazaram
no Pier Sul do Terminal Almirant e Barroso, localizado em So Sebastio
SP - Transpet ro - Petrobras.
Novembro de 2003 - Cerca de 460 litros de leo vazaram da linha de
produo da Petrobras em Riachuelo (32 km de Aracaj), atingindo o rio
Sergipe e parte da vegetao da regio.
Fevereiro de 2004 - Vazament o de leo cru poluiu o rio Guaec e a
praia de mesmo de mesmo nome em So Sebastio - SP. O acidente
aconteceu no oleodut o que liga o Terminal Almirant e Barroso, em So
Sebastio, refinaria President e Bernardes, em Cubato.
Maro de 2004 - Cerca de dois mil litros de petrleo vazaram de um
navio desativado, Meganar, pertencent e a uma empresa privada, na Baa
de Guanabara - RJ.
II - Principais Acidentes em Plataformas de Explorao no Mundo desde
1980
58
Maro de 1980 - A platafor ma Alexsander Keillan de Ekofish, no Mar
do Norte, naufragou, deixando 123 mort os.
Junho de 1980 - Uma exploso feriu 23 em navio sonda na Bacia de
Campos - Petrobrs.
Outubro de 1981 - Uma embarcao de perfurao afundou no Mar do
Sul da China, matando 81 pessoas.
Setembro de 1982 - A Ocean Ranger, platafor ma americana, tombou
no Atlntico Norte, matando 84 pessoas.
Fevereiro de 1984 - Um homem morreu e dois ficaram feridos durant e
a exploso de uma platafor ma no Golfo do Mxico, diante da costa do
Texas.
Agosto de 1984 - 37 trabal hadores morreram afogados e outros 17
ficaram feridos na exploso de uma platafor ma da Petrobrs na Bacia
de Campos.
Janeiro de 1985 - A exploso de uma mqui na bombeador a na
platafor ma Glomar rtico II, no Mar do Norte, causou a morte de um
homem e feriment os em outros dois.
Outubro de 1986 - Duas exploses na platafor ma Zapata (Petrobrs)
feriu 12 pessoas.
Outubro de 1987 - Incndio na platafor ma Pampa (Petrobras), na Bacia
de Campos, provocou queimadur a em 6 pessoas.
Abril de 1988 - Incndio na platafor ma Enchova (Petrobrs).
Julho de 1988 - 167 pessoas morreram quando a Piper Alpha, da
Occident al Petroleum, explodi u no Mar do Norte, aps um vazament o
de gs. o pior desast re relacionado a platafor mas de petrleo.
Setembro de 1988 - Uma refinaria da empresa francesa Total
Petroleum explodi u e afundou na costa de Bornu, e 4 trabal hadores
morreram.
Setembro de 1988 - Um incndio destrui u uma platafor ma da
companhi a americana de perfurao Ocean Odissey, no Mar do Norte.
Um operrio morreu.
Maio de 1989 3 pessoas ficaram feridas com a exploso de uma
platafor ma da empresa californiana Union Oil Company. Ela operava na
Enseada de Cook, no Alasca.
59
Novembro de 1989 - A exploso de uma platafor ma da Penrod
Drilling, no Golfo do Mxico, deixou 12 trabalhadores feridos.
Agosto de 1991 3 pessoas ficaram feridas numa exploso ocorrida na
platafor ma Fulmar Alpha, da Shell, no Mar do Norte.
Outubro de 1991 - 2 operrios ficaram gravement e feridos na exploso
em Pargo I, na Bacia de Campos - Petrobrs.
Dezembro de 1991 - Um tripulant e morreu aps uma exploso num
navio petroleiro, no litoral do Estado de So Paulo.
Maro de 1992 - Um helicpt ero caiu no Mar do Norte, logo aps
decolar de uma platafor ma da Cormorant Alpha. Onze homens
morreram.
Janeiro de 1995 - 13 pessoas morreram na exploso de uma
platafor ma da Mobil na costa da Nigria. Muitas ficaram feridas.
Janeiro de 1996 - 3 pessoas morreram na exploso de uma platafor ma
no campo petrolfero de Morgan, no Golfo de Suez.
Julho de 1998 - Uma exploso na platafor ma Golmar Areuel 4
provocou a mort e de 2 homens.
Dezembro de 1998 - Um operrio morreu ao cair de uma platafor ma
mvel de petrleo situada no litoral da Esccia.
Novembro de 1999 - Exploso feriu 2 pessoas na platafor ma P - 31, na
Bacia de Campos - Petrobrs.
Maro de 2001 - Exploses na platafor ma P- 36, na Bacia de Campos,
causou a mort e de onze operrios - Petrobrs.
Abril de 2001 - Um problema na tubulao na platafor ma P- 7 da
Petrobrs, na Bacia de Campos, resultou em um vazament o de 26 mil
litros de leo no mar .
Abril de 2001 - Acidente na platafor ma P- 7 na Bacia de Campos
derramou cerca de 98 mil litros de leo no mar, entre as cidades de
Campos e Maca.
Maio de 2001 - Acidente na platafor ma P- 7 na Bacia de Campos
ocasionou vazament o de leo. Foram detectadas duas manchas a uma
distncia de 85 Km da costa. Uma das machas tinha cerca de 110 mil
litros e a outra de 10 mil litros de leo.
60
Setembro de 2001 - Acidente na Platafor ma P- 12, no campo de
Linguado, na Bacia de Campos - Petrobras, ocasionou um vazament o de
3 mil litros de leo.
ANEXO II
Fonte: website da Petrobras
Certificados ISO 14001, BS 8800/ OHSAS 18001 e ISM CODE na Petrobras
(Situao em Janeiro de 2004 - 57 Unidades Certificadas)
A Petrobras uma das primeiras empresas de petrleo do mundo, e a
nica do Brasil, a ter todas as suas Unidades de Negcios, no pas e algumas
no exterior, certificadas pelas normas ISO 14001 (meio ambient e) e BS 8800 ou
OHSAS 18001(segurana e sade) e no caso de navios e platafor mas de
autopropul so, tambm pelo ISM Code, especfico para gesto de segurana de
embarcaes.
I Explorao e Produo (E&P)
Unidade Certificada
Escopo da
Certificao
Data
Organismo
Certificado
r
61
Unidade de Negcios de
Explorao e Produo da
Amazni a UN- AM
ISO 14001 BS 8800 Agost o/ 2001 BVQI
Unidade de Negcios de
Explorao e Produo do
Rio Grande do Norte e
Cear UN- RNCE
ISO 14001 BS 8800 Agost o/ 1998 DNV
Unidade de Negcios de
Explorao e Produo do
Esprit o Santo UN- ES
ISO 14001 BS 8800
Dezembr o/ 2
001
DNV
Unidade de Negcios de
Explorao e Produo do
Sul UN- SUL
ISO 14001 BS 8800 e
ISM CODE
Maio/ 2001 ABS
Unidade de Negcios de
Explorao e Produo da
Bacia de Campos UN- BC
ISO 14001 BS 8800 -
ISM CODE
Junho/ 2001 BVQI
Unidade de Negcios de
Explorao e Produo da
Bahia UN- BA
ISO 14001 BS 8800 Maio/ 2001 DNV
Unidade de Negcios de
Explorao e Produo de
Sergipe e Alagoas UN-
SEAL
ISO 14001 BS 8800 Junho/ 2001 BQVI
Unidade de Negcios de
Explorao e Produo do
Rio de Janeiro UN- RIO
ISO 14001 BS 8800 Junho/ 2001 BQVI
Unidade de Negcios de
Explorao e Produo da
Bacia de Solimes UN-
BSOL
ISO 14001 OHSAS
18001
Agost o/ 2001 BVQI
Servio de Aquisio
Geofsica SC- SAG
ISO 14001 BS 8800
Outubr o/ 200
1
DNV
Servios Compar t il hados de
Sondagem Auto Elevatria
SC- SAE
ISO 14001 BS 8800 Julho/ 2001 ABS
Servios Compar t il hados de
Engenhari a Submari na
SC- ESUB
ISO 14001 BS 8800 Julho/ 2001 BVQI
Servios Compar t il hados de
Poos SC- PO
ISO 14001 BS 8800 Julho/ 2001 BVQI
Servios Compar t il hados de
Sondagem e Logstica SC-
SL
ISO 14001 BS 8800
ISM CODE
Julho/ 2001 BVQI
II Abasteci mento Refino
62
Unidade Certificada
Escopo da
Certificao
Data
Organismo
Certificado
r
Refinaria Landul pho Alves
- UN- RLAM
ISO 14001 BS 8800
Setembr o/ 19
99
BVQI
Refinaria President e
Bernar des - UN- RPBC
ISO 14001 - BS
8800/ OHSAS 18001
Novembr o/ 1
999
Julho/ 2000
Fundao
Vanzoli ni
Refinaria President e Getlio
Vargas - UN- REPAR
ISO 14001 - OHSAS
18001
Maio/ 2000 ABS
Refinaria de Paulnia - UN-
REPLAN
ISO 14001 - BS 8800 Junho/ 2001 BVQI
Refinaria Henrique Lage -
UN- REVAP
ISO 14001 - OHSAS
18001
Agost o/ 2001
Fundao
Vanzolini
Refinaria Duque de Caxias
- UN- REDUC
ISO 14001 BS 8800
Outubr o/ 200
1
DNV
Lubrificant es e Derivados
de Petrleo Nordest e - UN-
LUBNOR
ISO 14001 - OHSAS
18001
Outubr o/ 200
1
DNV
Refinaria de Capuava - UN-
RECAP
ISO 14001 - OHSAS
18001
Novembr o/ 2
001
DNV
Unidade de Negcio da
Indust ri ali zao do Xisto -
UN- SIX
ISO 14001 OHSAS
18001
Novembr o/ 2
001
Fundao
Vanzolini
Refinaria de Manaus - UN-
REMAN
ISO 14001 - ISO 9001 -
OHSAS 18001
Novembr o/ 2
001
Fundao
Vanzolini
Refinaria Gabriel Passos -
UN- REGAP
ISO 14001 OHSAS
18001
Novembr o/ 2
001
ABS
Refinaria Albert o Pasquali ni
- UN- REFAP
ISO 14001 OHSAS
18001
Dezembr o/ 2
001
BVQI
Fbricas de Fertili zant es
Nitrogenados - UN- FAFEN
- BA e SE
ISO 14001 BS 8800
Dezembr o/ 2
001
BVQI
III Petrobras Transporte S.A. Transpetro
Unidade Certificada
Escopo da
Certificao
Data
Organismo
Certificado
r
Petrobras Transpor t e S.A. -
TRANSPETRO
ISO 9001 - ISO 14001 -
OHSAS 18001
Dezembr o/ 2
003
BVQI
Fundao
Vanzoli ni
63
Frota Nacional de
Petroleiros - FRONAPE
ISM CODE - ISO 14001
Fevereiro/ 20
00
Maio/ 2002
BV/DNV
BVQI
IV Engenharia
Unidade Certificada
Escopo da
Certificao
Data
Organismo
Certificado
r
Coordenadori a da Obra
para Const r uo da Regio
Norte (SEGEN/CONOR -
Urucu e REMAN)
ISO 14001 - BS 8800
Dezembr o/ 1
998
Janeiro/ 2000
BVQI
Implement ao de
Empreendi ment os para a
Refinaria Gabriel Passos -
REGAP -
ENGENHARIA/IEABAST/IER
G
ISO 14001 - ISO 9001 -
OHSAS 18001
Maro/ 2002 BVQI
V Pesquisa e Desenvol vi ment o
Unidade Certificada
Escopo da
Certificao
Data
Organismo
Certificado
r
Cent ro de Pesqui sas e
Desenvolvi ment o Leopol do
A. Miguez de Mello -
CENPES
ISO 14001 - OHSAS
18001
Novembr o/ 2
001
DNV
64
VI rea de Negci os Internacional
Unidade Certificada
Escopo da
Certificao
Data
Organismo
Certificado
r
Refinaria Gualbert o
Villarroel Empresa
Boliviana de Refinacin S.A.
ISO 14001 - BS 8800
Setembr o/ 20
02
BVQI
Refinaria Guiller mo Elder
Bell Empresa Boliviana de
Refinacin S.A.
ISO 14001 - OHSAS
18001
Outubr o/ 200
2
BVQI
Unidade de Negcios da
Colmbi a(UN- COL)
ISO 14001 - OHSAS
18001
Dezembr o/ 2
002
BVQI
Ativo de E&P de San
Albert o - UN- BOL
ISO 14001 - OHSAS
18001
Setembr o/ 20
03
TUV
Rheinland
Ativo de E&P de San
Antoni o - UN- BOL
ISO 14001 - OHSAS
18001
Dezembr o/ 2
003
TUV
Rheinland
Petroqu mi ca INNOVA -
Brasil - PESA
ISO 9001 - ISO 14001 -
OHSAS 18001
Dezembr o/ 2
002
BVQI
65
Você também pode gostar
- Atividade de Pesquisa II (1) Risco e Impacto AmbientalDocumento3 páginasAtividade de Pesquisa II (1) Risco e Impacto AmbientalJéssica Alves93% (15)
- Eixo Temático 2 - Políticas Públicas Educação, Ciência e Tecnologia e JustiçaDocumento61 páginasEixo Temático 2 - Políticas Públicas Educação, Ciência e Tecnologia e JustiçaLuan Bonini100% (1)
- Congresso Brasileiro de Zoologia - 2014 PDFDocumento1.251 páginasCongresso Brasileiro de Zoologia - 2014 PDFWeibson Paz100% (1)
- Territórios socioambientais em construção na Amazônia brasileiraNo EverandTerritórios socioambientais em construção na Amazônia brasileiraAinda não há avaliações
- Pim Viii 2Documento8 páginasPim Viii 2Emerson KonrathAinda não há avaliações
- Gestão AmbientalDocumento55 páginasGestão AmbientalAdrianaAinda não há avaliações
- Meio Ambiente E SustentabilidadeNo EverandMeio Ambiente E SustentabilidadeAinda não há avaliações
- Gestão Ambiental: Uma Visão MultidisciplinarNo EverandGestão Ambiental: Uma Visão MultidisciplinarAinda não há avaliações
- Índice de pegadas ambientais integradas (IPAI): Modelo e ValidaçãoNo EverandÍndice de pegadas ambientais integradas (IPAI): Modelo e ValidaçãoAinda não há avaliações
- Estudo Da Degradação Da Mata CiliarNo EverandEstudo Da Degradação Da Mata CiliarAinda não há avaliações
- Gestao Ambiental Na Embrapa Cerrados Guia de Termos e SiglasDocumento28 páginasGestao Ambiental Na Embrapa Cerrados Guia de Termos e SiglasSean RobinsonAinda não há avaliações
- Economia Da Restauracao FlorestalDocumento71 páginasEconomia Da Restauracao FlorestalDavid DomingosAinda não há avaliações
- Zona de AmortecimentoDocumento235 páginasZona de AmortecimentoMonteiro JuniorAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Sustentável e Meio AmbienteDocumento28 páginasDesenvolvimento Sustentável e Meio AmbienteAmarildo FerrariAinda não há avaliações
- Livro Se RBCV 2020iDocumento610 páginasLivro Se RBCV 2020iUruja ArtAinda não há avaliações
- SNUCDocumento22 páginasSNUCAdailton Dos Santos de Moura100% (2)
- A Importância Da EA Na Proteção Da Biodiversidade No BrasilDocumento6 páginasA Importância Da EA Na Proteção Da Biodiversidade No BrasilMarco Lacerda de OliveiraAinda não há avaliações
- Diretrizes para Visitacao em Unidades de ConservacaoDocumento72 páginasDiretrizes para Visitacao em Unidades de ConservacaoLuciano Festa MiraAinda não há avaliações
- Propostas de Sistemas Agroflorestais - Hélio90314 - Tiago90297Documento15 páginasPropostas de Sistemas Agroflorestais - Hélio90314 - Tiago90297Hélio FilhoAinda não há avaliações
- Bens e Serviços EcossistemicosDocumento4 páginasBens e Serviços EcossistemicosPaulo André SilvaAinda não há avaliações
- Morfologia Raiz PDFDocumento74 páginasMorfologia Raiz PDFerlonAinda não há avaliações
- Biodiversidade e Serviços EcosistemicosDocumento24 páginasBiodiversidade e Serviços EcosistemicosJacksonAlbuquerqueAinda não há avaliações
- Pagamento Por Serviços Ecossistêmicos em Perspectiva Comparada: Recomendações para Tomada de DecisãoDocumento180 páginasPagamento Por Serviços Ecossistêmicos em Perspectiva Comparada: Recomendações para Tomada de DecisãoPaula BernasconiAinda não há avaliações
- Módulo I PEAT 2011-2012Documento35 páginasMódulo I PEAT 2011-2012Taise OliveiraAinda não há avaliações
- Descritores de Riqueza e Diversidade em Especies em Estudos AmbientaisDocumento40 páginasDescritores de Riqueza e Diversidade em Especies em Estudos AmbientaisBrunomcta100% (1)
- Educação Ambiental - Conceitos e HistóricoDocumento372 páginasEducação Ambiental - Conceitos e HistóricoLuizAlmeidaAinda não há avaliações
- Relatório SerrapilheiraDocumento14 páginasRelatório SerrapilheiraPâmela ServatAinda não há avaliações
- Sequestro de CarbonoDocumento6 páginasSequestro de CarbonoNatan Henrique OliveiraAinda não há avaliações
- Ementa BIOQUIUFOPADocumento225 páginasEmenta BIOQUIUFOPAdpdbioAinda não há avaliações
- Plano de Recuperação de Áreas Alteradas para o AcreDocumento43 páginasPlano de Recuperação de Áreas Alteradas para o AcreEdson Alves de Araújo100% (1)
- Resumo Geoquimica Ambiental e Estudos de Impacto Geraldo Mario RohdeDocumento2 páginasResumo Geoquimica Ambiental e Estudos de Impacto Geraldo Mario RohdebabisAinda não há avaliações
- Educacao Do Campo e SustentabilidadeDocumento44 páginasEducacao Do Campo e SustentabilidadeAmanda SoutoAinda não há avaliações
- PRODUTO8 Apostila Tecnicas Manejo FlorestalDocumento63 páginasPRODUTO8 Apostila Tecnicas Manejo FlorestalKarine CaiafaAinda não há avaliações
- Apa Da Fazendinha - RelatórioDocumento4 páginasApa Da Fazendinha - RelatórioJuniorAinda não há avaliações
- Educação Ambiental-MineraçãoDocumento6 páginasEducação Ambiental-Mineraçãocetec consultoriaAinda não há avaliações
- Boas Praticas Na Gestao de Ucs Edicao 3 2018Documento127 páginasBoas Praticas Na Gestao de Ucs Edicao 3 2018AlessandroAinda não há avaliações
- Adubação FoliarDocumento8 páginasAdubação FoliarFabíola EstrelaAinda não há avaliações
- Avaliacao de Equipamentos-4hDocumento35 páginasAvaliacao de Equipamentos-4hthjmacedoAinda não há avaliações
- Recuperação, Restauração e ReabililtaçãoDocumento2 páginasRecuperação, Restauração e ReabililtaçãoRodrigo LemosAinda não há avaliações
- Biodiversidade Brasileira MMADocumento340 páginasBiodiversidade Brasileira MMAJoe WellsAinda não há avaliações
- Horta EscolarDocumento11 páginasHorta EscolarElayne SantosAinda não há avaliações
- Bioindicadores AmbientaisDocumento7 páginasBioindicadores AmbientaisCarol SallesAinda não há avaliações
- Legislação Aplicada A RADDocumento14 páginasLegislação Aplicada A RADGreyce MaasAinda não há avaliações
- Conhecendo Os Solos PDFDocumento86 páginasConhecendo Os Solos PDFSarah FernandesAinda não há avaliações
- TCC AgroecologiaDocumento75 páginasTCC AgroecologiaCaseh WernerAinda não há avaliações
- Plano de Manejo Dos Parques de MaringáDocumento113 páginasPlano de Manejo Dos Parques de MaringáVictoria MansanoAinda não há avaliações
- Estrutura de Populações e Manejo FaunaDocumento6 páginasEstrutura de Populações e Manejo FaunaLaudineia MatiasAinda não há avaliações
- Bocaina - Guia de Metodos de Campo em Botanica PDFDocumento81 páginasBocaina - Guia de Metodos de Campo em Botanica PDFMárcio LucasAinda não há avaliações
- Poluição Ambiental - PDF 2Documento24 páginasPoluição Ambiental - PDF 2ARTHUR De oliveira NetoAinda não há avaliações
- 1-Introdução Biologia Da ConservacaoDocumento61 páginas1-Introdução Biologia Da ConservacaoCaio FernandesAinda não há avaliações
- A Gestão Dos Recursos Naturais - Jefferson RochaDocumento15 páginasA Gestão Dos Recursos Naturais - Jefferson RochaFidelisMartinsPaixãoAinda não há avaliações
- Mosaico Do ApuÃDocumento92 páginasMosaico Do ApuÃZaid Alejandro Arias FloresAinda não há avaliações
- Cartilha Nascentes ProtegidasDocumento24 páginasCartilha Nascentes ProtegidasAntonioleonardocostaAinda não há avaliações
- Implantação de Um Sistema Agroflorestal Biodiverso em Um Lote Do Assentamento Estrela Da Ilha, em Ilha Solteira (SP)Documento1 páginaImplantação de Um Sistema Agroflorestal Biodiverso em Um Lote Do Assentamento Estrela Da Ilha, em Ilha Solteira (SP)Andre CarneiroAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Agrometeorologia - 2020-5Documento3 páginasPlano de Ensino - Agrometeorologia - 2020-5Maurício LeiteAinda não há avaliações
- Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros em Reservatórios Do BrasilDocumento519 páginasEcologia e Manejo de Recursos Pesqueiros em Reservatórios Do BrasiladrianacdeusAinda não há avaliações
- Estudos de Impactos AmbientaisDocumento120 páginasEstudos de Impactos AmbientaisJanaina CabralAinda não há avaliações
- Apostila de Avaliacao de Impacto AmbientalDocumento52 páginasApostila de Avaliacao de Impacto AmbientalTarcila Valentim100% (1)
- Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de FaunaDocumento64 páginasMonitoramento e Mitigação de Atropelamento de FaunaGestão Ambiental Rodovias Do BrasilAinda não há avaliações
- Silvia Maria Peixoto Fernandes Do Nascimento PDFDocumento34 páginasSilvia Maria Peixoto Fernandes Do Nascimento PDFLucasVambasterAinda não há avaliações
- Livro Ecologia de Populacoes e ComunidadesDocumento125 páginasLivro Ecologia de Populacoes e ComunidadesPaloma GomesAinda não há avaliações
- Educação, meio ambiente e saúde: Escritos científicos do extremo sul do Piauí – Volume 2No EverandEducação, meio ambiente e saúde: Escritos científicos do extremo sul do Piauí – Volume 2Ainda não há avaliações
- Aplicação de Fibras Naturais Na ArquiteturaDocumento20 páginasAplicação de Fibras Naturais Na ArquiteturaJorge Eliecer Campuzano CarmonaAinda não há avaliações
- A Preservação Ambiental Como Um Dos Desafios Dos Objetivos Do Desenvolvimento SustentávelDocumento5 páginasA Preservação Ambiental Como Um Dos Desafios Dos Objetivos Do Desenvolvimento SustentávelCarine GonçalvesAinda não há avaliações
- Resumo Artigo - Restaurando A Paisagem - Um Desafio Social e AmbientalDocumento4 páginasResumo Artigo - Restaurando A Paisagem - Um Desafio Social e AmbientalBianca NogueiraAinda não há avaliações
- Livro - Michele SATO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL TESSITURAS DE ESPERANÇASDocumento103 páginasLivro - Michele SATO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL TESSITURAS DE ESPERANÇASLouise Braga100% (1)
- Sabonete Dove ApresentacaoDocumento17 páginasSabonete Dove ApresentacaoVolstag ThunderheadAinda não há avaliações
- RESUMO-TEXTO 1-Desenvolvimento Urbano Sustentável PDFDocumento2 páginasRESUMO-TEXTO 1-Desenvolvimento Urbano Sustentável PDFJuliana Coelho SantosAinda não há avaliações
- Revista Concreto IBRACON 109Documento84 páginasRevista Concreto IBRACON 109Geraldo AlvesAinda não há avaliações
- 0português UdeM - Decl IA Resp - LA Declaration - VfmontrealDocumento21 páginas0português UdeM - Decl IA Resp - LA Declaration - VfmontrealVictor FagundesAinda não há avaliações
- Plano de Manejo Da AEITMarumbiDocumento197 páginasPlano de Manejo Da AEITMarumbiMariana LampeAinda não há avaliações
- Revisão de Geografia para o Simulado - 4º PDocumento21 páginasRevisão de Geografia para o Simulado - 4º PGabrielly PaixãoAinda não há avaliações
- Drenagem Efetiva SustentavelDocumento21 páginasDrenagem Efetiva SustentavelFehSalignacAinda não há avaliações
- Código de Conduta Global - Natura & CoDocumento38 páginasCódigo de Conduta Global - Natura & CoMadalena M.Ainda não há avaliações
- (Regulamentação) DECRETO #15.798 - Mato Grosso Do Sul (2021)Documento16 páginas(Regulamentação) DECRETO #15.798 - Mato Grosso Do Sul (2021)Ariane MoraesAinda não há avaliações
- Geografia 8cd Servicos-Turismo BlogDocumento30 páginasGeografia 8cd Servicos-Turismo BlogAida Almeida CunhaAinda não há avaliações
- Texto de Apoio 1 - Competências SocioemocionaisDocumento8 páginasTexto de Apoio 1 - Competências Socioemocionaisclarice guedes segundoAinda não há avaliações
- Apostila - Currículo Da Cidade IntrodutórioDocumento54 páginasApostila - Currículo Da Cidade IntrodutórioBruna KoerichAinda não há avaliações
- Sustentabilidade CulturalDocumento6 páginasSustentabilidade Culturalb363206Ainda não há avaliações
- Lei - 8915 - 2015 - Politica Ambiental (Licenciamento Ambiental)Documento24 páginasLei - 8915 - 2015 - Politica Ambiental (Licenciamento Ambiental)Luiz Humberto ValenteAinda não há avaliações
- Saneamento AmbientalDocumento245 páginasSaneamento AmbientalThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Capital Natural Serviços Ecossistêmicos e Sistema EconômicoDocumento24 páginasCapital Natural Serviços Ecossistêmicos e Sistema EconômicoEduardo ChuéAinda não há avaliações
- Catálogo Açovisa (Versão Web)Documento10 páginasCatálogo Açovisa (Versão Web)Leandro Gusmão da SilvaAinda não há avaliações
- Documento Orientador Da Implementação Do Novo Ensino Médio Da Bahia PDFDocumento24 páginasDocumento Orientador Da Implementação Do Novo Ensino Médio Da Bahia PDFRose Meire Oliveira BarrosAinda não há avaliações
- 1 P.D - 2023 - Port. - 9° Ano - E.F - BPWDocumento4 páginas1 P.D - 2023 - Port. - 9° Ano - E.F - BPWNatália FreitasAinda não há avaliações
- Eficácia Dos Instrumentos Da Política Nacional Do Meio AmbienteDocumento5 páginasEficácia Dos Instrumentos Da Política Nacional Do Meio AmbienteEliel RosaAinda não há avaliações
- Cosousing - Um Resgatede Conceito de Coletividade Na HabitaçãoDocumento14 páginasCosousing - Um Resgatede Conceito de Coletividade Na HabitaçãoJULIANA DE CARVALHO LIRAAinda não há avaliações
- Unicesumar - SCGDocumento10 páginasUnicesumar - SCGphillipeAinda não há avaliações
- Apresentação - Sessão de Sensibilização - Primeira ParteDocumento89 páginasApresentação - Sessão de Sensibilização - Primeira ParteFernando Souto FrançaAinda não há avaliações