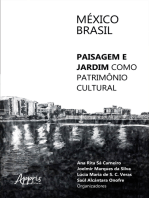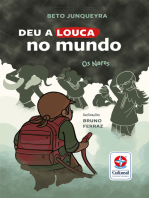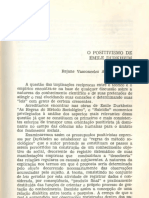Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Policia Estado e Sociedade
Policia Estado e Sociedade
Enviado por
Ana Paula MirandaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Policia Estado e Sociedade
Policia Estado e Sociedade
Enviado por
Ana Paula MirandaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
POLCIA, ESTADO E SOCIEDADE:
PRTICAS E SABERES
LATINO-AMERICANOS
Hayde Caruso
Jacqueline Muniz
Antnio Carlos Carballo Blanco
Organizao
Hayde Caruso
Jacqueline Muniz
Antonio Carlos Carballo Blanco
Pesquisa
Raphael Millet Camarda Corra
Rachel Matre
Traduo
Aitor J. A. Echeverria
Carola Mittrany
Jos Cludio dos Santos Jnior
Lenin Pires
Luca Eilbaum
Luisa Lamas
Maria Blanco Alvite
Maria Paz Pizarro Portilla
Miren Josune Marco Oqueranza
Paz Iturrieta Serra
Reviso
Aline Gatto Boueri
Shelley de Botton
Editora
Publit Solues Editoriais
Projeto grfico, diagramao e capa
Sisa Rezende
Realizao
Apoio
Foundation Open Society Institute
Os textos e opinies publicados neste livro so de responsabilidade exclusiva de
seus autores. Os contedos e o teor das anlises publicadas no necessariamente refletem
a opinio de todos os colaboradores da Rede.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos Fundao Open Society Institute pelo apoio construo da
Rede de Policiais e Sociedade Civil na Amrica Latina e, consecutivamente,
elaborao deste livro. Nossos agradecimentos especiais ao Dr. Geoge Vickers
e Victoria Wigodzki, que desde o incio apostaram na idia de reunir em um
mesmo projeto policiais e membros da sociedade civil organizada de nosso
continente.
Ao Dr. Wilhelm Hofmeister e Joana Fontoura, da Fundao Konrad Adenauer,
que de longa data apiam projetos realizados pelo Viva Rio com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento institucional da Polcia Militar do Estado do
Rio de Janeiro e que tambm se interessaram em viabilizar esta publicao.
Florencia Fontn Balestra, registramos um agradecimento todo especial
por sua determinao e criatividade em propor o projeto de constituio da
Rede. A partir de sua orientao e proposta bem estruturada foi possvel
concretizar o desafio de aproximar policiais e sociedade civil dedicados ao
tema da reforma policial.
Agradecemos aos nossos parceiros institucionais nos 10 pases latino-americanos
que tornaram este projeto possvel: Santiago Veiga e Igncio Romano (Fundar,
Argentina), Cludio Beato e Elenice de Souza (CRISP, Brasil); Coronel PM RR
Luis Antnio Brenner Guimares (Guay, Brasil); Hugo Acero (Milnio,
Colmbia); Lucia Dammert e Javiera Diaz (FLACSO-Chile); Edgardo A. Amaya
Cbar (F.E.S.P.A.D, El Salvador); Carmen Rosa de Len Escribano e Leslie
Sequeira Villagrn (IEPADES, Guatemala); Ernesto Lpez Portillo Vargas e
Ernesto Cardenas Villarello (INSYDE, Mxico); Marco Valle Martinez
(Universidad Centroamericana, Nicargua); Ernesto de la Jara e Gustavo Gorriti
(IDL, Peru) e Soraya El Achkar (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela).
Aos policiais latino-americanos que acreditaram no projeto e que hoje fazem
parte desta Rede: Guillermo Nicols Zalaya (Polica de la Provncia de Crdoba);
Ruben Adrian Rodrguez (Polica de la Provincia de Buenos Aires) e Rubens
Fabian Rebuffo (Polica de la Provincia de Neuqun) na Argentina; Marco Antnio
Bicalho (Polcia Militar do Estado de Minas Gerais); Wagner da Silva Sales (Polcia
Civil do Estado de Minas Gerais); Robson Rodrigues da Silva (Polcia Militar do
Estado do Rio de Janeiro); Carmen Isabel Andreola e Martim Cabeleira de
Moraes Jnior (Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul); Jun Sukekava
(Polcia Civil do Estado do Rio Grande do Sul), no Brasil; Carlos Pino Torres
(Polica de Investigaciones de Chile); Hernando Hevia Hinojosa e Marcelo
Alberto Yaez Palma (Carabineros de Chile); Julio Csar Sanchez Molina e Yed
Milton Lpez Riao (Polica Nacional de Colombia); Hugo Armando Ramrez
Meja, Nelson Edgardo Campos Escalante e Olga Alfaro de Pinto (Polica
Nacional Civil) de El Salvador; Edwin Chipix, Marlon Esteban e Rosa Mara
Jurez Aristondo (Polica Nacional Civil) de Guatemala; Luis Gabriel Salazar
Vzquez (Polica Estatal de la Direccin de Polica del Estado de Quertaro.);
Juan Sonoqui Martinez (Policia Preventiva Municipal de Cajeme, Sonora) e
Reyna Biruuete Ponce (Agencia Federal de Investigacin) do Mxico; Elizabeth
Rodriguez Obando, Jos Francisco Aguilera Ferrufino e Xavier Antonio Dvila
Rueda (Polica Nacional de Nicaragua); Eduardo Guillermo Arteta Izarntegui,
Julio Diaz Zulueta e Lucas Nuez Crdova (Polica Nacional de Peru); Aimara
Aguilar Ruiz e Luis Alberto Pacheco (Cuerpo de Seguridad y Orden Pblico
del Estado Aragua) e Jorge Luis Sar (Polica Municipal de San Francisco
Maracaibo) da Venezuela.
Ao Frum Brasileiro de Segurana Pblica, na pessoa de Josephine Bourgois,
que viabilizou a veiculao de nosso boletim eletrnico em seu referido portal,
dando visibilidade em mbito nacional a esta iniciativa.
Finalmente, queremos agradecer a toda equipe do Programa de Segurana
Humana do Viva Rio, especialmente, Ilona Szab, nossa coordenadora geral;
Mayra Juc, Carola Mittrany, Aline Gatto Boueri e Shelley de Botton,
respectivamente coordenadora e jornalistas do Portal Comunidade Segura,
que viabilizaram entrevistas, matrias e dossis sobre os pases que integram a
Rede, bem como nos auxiliaram na conduo dos fruns e chats promovidos.
Ao Luciano Francelli, dedicamos agradecimento especial por sua incansvel
dedicao em organizar toda a logstica dos workshops e cursos da Rede.
Rachel Matre, pesquisadora da Rede, manifestamos nossos sinceros
agradecimentos por seu esforo, dedicao e, sobretudo, empenho em pesquisar
temas interessantes para o debate, traduzir documentos, orientar e mobilizar
parceiros institucionais e policiais, quase que diariamente.
Sisa Rezende, fica o nosso agradecimento final por traduzir na forma de uma
imagem apresentada na capa deste livro a idia central da Rede, que promover
o intercmbio entre policiais e sociedade civil na Amrica Latina.
SUMRIO
Prefacio. ................................................................................ 11
Apresentao. ..................................................................... 14
Ficha tcnica. ....................................................................... 17
PARTE I - POLICIA E ESTADO
a. Mandato Policial em Sociedades Democrticas
Artigos
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
Jacqueline Muniz e Domicio Proena Jnior ............................. 21
A participao comunitria. O Caso Bradford e a Experincia
Britnica frente aos desafios do racismo, da excluso social e
do terrorismo
Gastn Schulmeister ................................................................ 74
Comunicaes
Reforma Policial e Uso Legtimo da Fora em um Estado de
Direito: um olhar na experincia de Colmbia
Hugo Acero ............................................................................. 99
Estratgias Policiais Perante Novas Ameaas e Relaes
Segurana Pblica Defensa Nacional
Gustavo Gorriti ..................................................................... 109
Relatos Policiais
Responsabilidade da Policia Nacional na Segurana Urbana e
Rural de cara ao conflito y ps-conflito colombiano
Julio Csar Snchez Molina .................................................... 117
Trafico de Seres Humanos
Juan Sonoqui Martinez........................................................... 129
Evitar um Linchamento. Um assunto de confiana
Jorge Sar .............................................................................. 139
b. Reforma Policial e Experincias em Cenrios Ps-conflito
Artigo
Dilemas da reforma policial na Amrica Latina
Luca Dammert ..................................................................... 143
Comunicaes
A Polcia que queremos: consideraes sobre o processo de
reforma da Polcia Militar do Rio de Janeiro
Elizabeth Albernaz, Hayde Caruso e Luciane Patricio .......... 163
Reforma Policial na Venezuela: uma experincia em curso
Soraya El Achkar ................................................................... 179
A Policia em Sociedades Ps-conflito
Edgardo A. Amaya Cbar ...................................................... 215
Relatos Policiais
Plataforma do Modelo de Polcia Comunitria de El Salvador
Olga Alfaro de Pinto .............................................................. 225
PARTE II - POLICIA E POLICIA
c. Gesto, Planejamento e Avaliao do Trabalho Policial
Artigo
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de Medida de
Desempenho Policial
Jacqueline Muniz e Domcio Proena Jnior ........................... 231
Comunicao
Experincias de Intercmbio Positivo. O processo de
construo de indicadores de avaliao de desempenho com a
Secretaria de Segurana Cidad do Estado de Quertaro (SSC)
Ernesto Lopz Portillo Vargas e Ernestro Crdenas Villarello ...... 281
Relatos Policiais
Sistema Informatizado de Acompanhamento Criminal SIAC
Marco Antnio Bicalho .......................................................... 290
Analise Delitiva e Utilizao de Ferramentas para a Preveno
do Delito
Rubn Adrin Rodrguez ........................................................ 300
Planejamento Operacional: a Experincia Neuquina
Rubens Fabian Rebuffo .......................................................... 309
Aplicao de Estratgias Similares de Segurana em Duas Zonas
com resultados diferentes
Luis Alberto Pacheco .............................................................. 319
A Comissria de Cruz Blanca: uma experincia de gesto policial
Julio Diaz Zulueta ................................................................. 326
A Aplicao de um Plano de Preveno do Delito em Trs
Municpios Guatemaltecos
Edwin Chipix .......................................................................... 333
Chefia e Liderana Policial: o caso da provncia de Callao Lima
Eduardo Guillermo Arteta Izarntegui ................................... 338
A violncia contra os Policiais: perceber, problematizar e atuar
Martim Cabeleira de Moraes Jnior ...................................... 347
A Formao Policial: Um Desafio Democrtico
Aimara Aguilar ....................................................................... 352
O Enfoque de Gnero na Formao da Polcia Nacional da
Nicargua
Elizabeth Rodriguez Obando.................................................. 359
d. Instrumentos de Controle Interno
Artigos
Controles Internos Policiais, ou como a Policia vigia a policia
Ernesto Lpez Portillo Vargas e Vernica Martnez Solares .... 365
Comunicao
Mecanismos e procedimentos de controle interno: um olhar
da Argentina
Santiago Veiga e Ignacio Romano .......................................... 382
Relatos Policiais
Ordens Gerais para o controle interno no Estado de
Quertaro
Luiz Gabriel Salazar Vsquez ................................................. 391
Assedio Sexual na Policia Nacional Civil de Guatemala
Rosa Maria Jurez Aristondo ................................................. 395
PARTE III - POLICIA E SOCIEDADE
e. Participao e Controle Social: enfoques comunitrios e locais
Artigos
A Participao Comunitria na preveno do crime na Amrica Latina
Luca Dammert ..................................................................... 401
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da Participao
Social na Democratizao do Estado
Ana Paula Mendes de Miranda .............................................. 417
Comunicao
A Relao Policia-Comunidade: Analise da Experincia do Plano
Quadrante no Chile
Javiera Diaz ........................................................................... 444
Grupo Especializado em reas de Risco (GEPAR): os dilemas
de uma experincia inovadora de preveno e controle de trfico
drogas e homicdios em favelas violentas em Belo Horizonte, Brasil
Elenice de Souza.................................................................... 457
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto-Alegre
Helena Bonum e Luis Antnio Brenner Guimares .............. 463
Relatos Policiais
Carabineiros de Chile como Garantia da Ordem Pblica no
Contexto do Conflito Mapuche
Hernando Hevia Hinojosa ..................................................... 483
O Municpio De Restinga Seca e as Relaes de sua Populao
com a Polcia Civil em contraponto aos Registros Policiais
Realizados
Jun Suekava ........................................................................... 486
Estratgias de Aproximao Comunidade no distrito de Villa
El Salvador, Peru
Lucas Nuez Crdova............................................................ 492
Estao de Policia Modelo
Marlon Lpez Esteban ........................................................... 497
Modelo de Vigilncia Comunitria na Colmbia
Yed Milton Lpez Riao ......................................................... 500
O Planejamento Participativo do Bairro de Higienpolis, Rio
de Janeiro: Organizando a sociedade e qualificando as demandas
por segurana pblica
Robson Rodrigues da Silva...................................................... 513
A Organizao dos comits Locais de Preveno da Violncia
e Delinqncia em El Salvador
Hugo Armando Ramrez Mejia .............................................. 518
O Controle Social e a Policia: aliana contra o trafico ilcito de
armas de fogo
Xavier Antonio Dvila Rueda ................................................. 523
f. Policia e Juventudes
Artigos
Policia e Juventude na Era da Globalizao
Alba Zaluar ........................................................................... 531
Comunicao
Preveno do Delito e Violncia entre Adolescncia e Juventude
Leslie Sequeira Villagrn ........................................................ 557
Dilogos de uma juventude vigiada e vigilante
Aline Gatto Boueri ................................................................. 567
1 0
Um relato sobre a Polcia Nacional e o Controle da Delinqncia
Juvenil na Nicargua
Marco A. Valle Martnez........................................................ 573
Relatos Policiais
A Relao com a Comunidade na Policia de Investigao de
Chile
Carlos Pino Torres .................................................................. 589
Dualidade entre Segurana Pblica e Privada em Espetculos
Pblicos
Guillermo Nicols Zalaya ...................................................... 597
A Atuao da Policia no Bairro Popular Restinga, Breve Analise
Carmen Isabel Andreola ........................................................ 603
Anexo
Metodologia do Curso para reproduo. ..................... 607
1 1
POLCIA, ESTADO E SOCIEDADE: PRTICAS E
SABERES LATINO-AMERICANOS
PREFCIO
Os altos ndices de violncia e criminalidade no so um fenmeno
novo para Amrica Latina. Efetivamente, a partir do final da dcada de 80,
a violncia se tornou um componente comum na vida cotidiana dos latino-
americanos, tornando a regio uma das mais violentas do mundo. De
acordo com o Banco Mundial, a violncia uma das cinco principais causas
de mortalidade na regio e a principal causa em Brasil, Colmbia, Venezuela,
El Salvador e Mxico.
Esta situao colocou as diversas instituies policiais latino-
americanas no centro da ateno pblica. A sociedade se sente cada vez
mais insegura e demanda de forma urgente respostas rpidas e eficazes.
Por sua vez, os governos de turno prometem solues milagrosas em
circunstncias que exigem respostas de longo alcance, e exercem presso
sobre as foras de segurana para produzir resultados no curto prazo,
sem querer assumir o custo poltico e econmico que implica a
implementao das reformas estruturais necessrias para modernizar as
organizaes policiais da regio.
Diante desse quadro poltico, a tendncia das polcias da regio
consistiu em reproduzir as estratgias tradicionais de combate
criminalidade, que respondem a um modelo do tipo militar, reativo e
repressivo, herdeiro das ditaduras militares que governaram a Amrica
Latina durante o sculo passado. Contudo, esse tipo de modelo se torna
em si mesmo um obstculo para a transformao, j que carece da
flexibilidade necessria para se modernizar e adaptar aos desafios impostos
pela criminalidade moderna.
No entanto, existem muitos policiais na Amrica Latina com muita
experincia profissional que tm idias inovadoras e que querem melhorar
o desempenho de suas respectivas instituies policiais, mas carecem do
apoio poltico e institucional necessrio para empreender tais reformas.
Esses policiais tm uma importncia fundamental para suas instituies,
mas muitas vezes acabam desistindo de seus projetos por falta de
1 2
oportunidades ou de ajuda para implementar suas propostas. Inclusive,
em algumas ocasies, os policiais so marginalizados ou discriminados na
hora das promoes na medida em que suas propostas so vistas como
uma ameaa pelas corporaes s quais pertencem.
Paralelamente, durante a ltima dcada, uma quantidade significativa
de organizaes acadmicas e da sociedade civil tm se interessado pela
segurana pblica na Amrica Latina e tm produzido um grande acervo
de conhecimentos cientficos sobre esse tema. Atualmente, a regio conta
com um importante nmero de especialistas de primeiro nvel dedicados
ao estudo da problemtica da violncia e da criminalidade no contexto
particular do nosso continente. Assim, em alguns pases, esses especialistas
esto trabalhando diretamente com o poder pblico na elaborao e
implementao de polticas de segurana pblica.
No entanto, atualmente, so poucos os esforos orientados a reunir
de forma sistemtica esses dois grupos de atores - policiais e membros
da sociedade civil-, para que possam trocar experincias e conhecimentos
e pensar conjuntamente programas e aes destinados a desenvolver
institucionalmente as polcias latino-americanas.
A criao de um espao permanente, interdisciplinar e interinstitucional,
que viabilize o dilogo e a colaborao entre os diferentes atores na rea de
segurana pblica, de vital importncia, no s porque cada grupo precisa do
outro para poder compreender melhor os desafios enfrentados pelas instituies
policiais da regio, mas tambm porque essa unio possibilitar o fortalecimento
coletivo de seus atores e permitir ampliar a participao e contribuio de
cada um na elaborao das respectivas polticas pblicas.
Certamente, as dificuldades e os desafios que enfrentam as polcias
latino-americanas so diferentes e respondem s particularidades de cada
pas, de sua cultura, de suas tradies e do momento histrico respectivo.
No entanto, consideramos que as semelhanas so tamanhas que
possibilitam seu tratamento conjunto. Por outro lado, a anlise comparativa
das diferentes problemticas enfrentadas por cada organizao policial
possibilitar enriquecer a viso de cada sistema em particular, possibilitando
uma viso holstica da realidade.
Por tudo isso, surgiu a idia de convocar diversas organizaes da
Amrica Latina para formar com elas uma Rede de Polcias e Sociedade
Prefcio
1 3
Civil, iniciativa que foi realizada pela ONG Viva Rio, com o apoio da
Fundao Open Society Institute. Durante seus dois primeiros anos de
funcionamento, a rede foi desenvolvida conjuntamente com as seguintes
instituies latino-americanas: FUNDAR (Argentina), CRISP (Brasil), Guay
(Brasil), FLACSO (Chile), MILENIO (Colmbia), FESPAD CEPES (El
Salvador), IEPADES (Guatemala) e INSYDE (Mxico), Universidad
Centroamericana (Nicargua) Instituto de Defensa Legal (Peru), Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz (Venezuela).
A Rede busca atingir os seguintes objetivos: 1. Construir canais de
dilogo e cooperao entre os membros das foras policiais e os membros
da sociedade civil e pesquisadores da rea; 2. Desenvolver os mecanismos
necessrios para que esses atores possam exercer influncia nas agendas
nacionais e regionais de segurana pblica; 3. Capacitar e empoderar oficiais
de polcia que estaro em posies-chave de comando daqui a alguns
anos; 4. Aumentar e aperfeioar a participao dos integrantes das
instituies de segurana pblica em discusses sobre reforma da polcia;
e 5. Legitimar a existncia de movimentos de reforma dentro das
instituies de segurana pblica.
Na prtica, a Rede de Polcias e Sociedade Civil da Amrica Latina
se rene anualmente em vrias oportunidades. Primeiro, atravs da
realizao de Workshops com membros da sociedade civil orientados a
pensar formas de consolidar e fortalecer a rede. Segundo, por meio da
realizao anual do Curso de Liderana para o Desenvolvimento Institucional
Policial, destinado a lderes policiais latino-americanos e administrado pelos
prprios policiais e por pesquisadores, especialistas e representantes das
instituies associadas.
O presente livro constitui um belo exemplo do esforo
interinstitucional empreendido pela Rede, na medida em que foi elaborado
conjuntamente por policiais e membros da sociedade civil, e fruto do
material produzido durante a realizao do citado Curso de Liderana.
Essencialmente, representa um acmulo de conhecimento cientfico e
prtico sobre algumas das principais questes que preocupam e mobilizam
os atores na rea de segurana pblica em Amrica Latina.
Florencia Fontn Balestra
Advogada (Universidade de Buenos Aires, Argentina), Mestre em Legislao (Universidade de
Harvard, Estados Unidos). Pesquisadora e consultora, especialista em temas de segurana pblica.
Prefcio
1 4
APRESENTAO
O livro Policia, Estado e Sociedade: prticas e saberes latino-americanos
foi elaborado a vrias mos. Resulta de um trabalho conjunto que rene
mais de 50 autores que fazem parte de centros de estudos, ONGs e
agncias policiais dos 10 pases que atualmente compem a Rede de Policiais
e Sociedade Civil na Amrica Latina: Argentina, Brasil, Colmbia, Chile, El
Salvador, Guatemala, Mxico, Nicargua, Peru e Venezuela.
Mais do que a quantidade de pessoas envolvidas, esta coletnea
expressa um rico retrato, panormico e plural, de pontos de vista,
preocupaes, prioridades, questionamentos e desafios que informam as
prticas policiais, de participao civil e de pesquisa cientfica no campo
da segurana pblica em nosso continente. Constitui um mosaico de
reflexes e perspectivas no qual se combinam uma multiplicidade de vozes
e seus sotaques singulares. Trata-se de uma reunio de distintos olhares
apresentados em mais de 500 pginas de contedo que, desde dentro e a
partir de suas vrias realidades, experimentam e problematizam os rumos
da democratizao ou da reforma policial.
A diversidade histrica, cultural e poltica entre os pases aqui
representados ps em relevo no apenas o que h de singular entre ns,
mas sobretudo a identificao e o reconhecimento de questes comuns e
recorrentes, estruturais e conjunturais, muitas vezes despercebidas ou
negligenciadas. Possibilitou constatar que partilhamos um acervo de
saberes e prticas, que atravessam, articulam e iluminam nossas trajetrias.
E, com isso, permitem revelar novos sentidos, construir possibilidades
outras de compreenso dos nossos desafios, vislumbrar horizontes ao
nosso alcance, diante do estado de nossas realidades, e sob medida para
as nossas indagaes.
Nas pgi nas segui ntes, o l ei tor i r ter contato com este
repertrio de abordagens que sintetiza o esforo de integrar a produo
cientfica e o conjunto de conhecimentos e vivncias policiais, por meio
do dilogo crtico entre as reflexes construdas pelos pesquisadores
dedicados ao tema da segurana pblica e da reforma policial e aquelas
desenvolvidas pelos policiais a partir de suas prticas profissionais em
seus respectivos pases.
1 5
O livro traduz, portanto, a sntese de dois anos consecutivos de
trabalho no mbito da Rede de Policiais e Sociedade Civil na Amrica Latina,
atravs de sua principal atividade que o Curso de Liderana para o
Desenvolvimento Institucional Policial que destaca, articula e
problematiza as atribuies, funes e papis do Estado, Polcia e Sociedade
voltados para o provimento de segurana pblica no estado democrtico
de direito.
Os materiais pedaggicos que conformam esta publicao foram
concebidos exclusivamente para curso e possuem a seguinte composio
a) artigos cientficos de estudiosos e especialistas do meio acadmico e de
instituies da sociedade civil, b) comunicaes desenvolvidas pelos
representantes da sociedade civil sobre experincias, questes ou
problemas atuais enfrentados pelos pases aqui contemplados e, c) casos
ou relatos de policiais sobre suas experincias profissionais que retratem
iniciativas que lograram xitos, potencialmente promissoras ou
interrompidas em virtude dos desafios, limitaes e resistncias
institucionais e sociais que enfrentaram.
A organizao interna destes materiais reproduz os trs eixos
estruturais Polcia & Estado, Polcia & Polcia e Polcia & Sociedade.
Estes, por sua vez, emprestam unidade conceitual e uma seqncia
pedaggica aos seis grandes temas definidos pelos integrantes da Rede e
trabalhados nas conferncias, painis e oficinas que constituiram o curso
Apresentao
nos anos de 2006 e 2007. So eles:
Mandato policial nas sociedades democrticas;
Reforma Policial e Experincias em Sociedades Ps-
conflito
Gesto, Planejamento e Avaliao do Trabalho Policial
Instrumentos de Controle Interno
Participao e Controle Social: enfoques comunitrios
e locais
Polcia e Juventudes
1 6
Desejamos a todos que aproveitem ao mximo as reflexes aqui
reunidas, e que este livro possa cumprir o seu propsito, que o de
partilhar os mais distintos saberes e suas mais diversas prticas entre os
interessados pelos rumos da segurana pblica na Amrica Latina.
Boa leitura!
Antonio Carlos Carballo Blanco
Hayde Caruso
Jacqueline Muniz
(Organizadores)
Rio de Janeiro, 2007
Apresentao
1 7
FICHA TCNICA
Equipe Viva Rio
Rubem Cesar Fernandes - Diretor Executivo
Ilona Szab de Carvalho - Coordenadora do Programa em Segurana Humana
Florencia Fontn Balestra Idealizadora da Rede de Policiais e Sociedade Civil na
Amrica Latina
Hayde Glria Cruz Caruso - Coordenadora da Rede
Raphael Millet Camarda Corra Pesquisador
Rachel Matre Pesquisadora
Mayra Juc Coordenadora do Portal Comunidade Segura
Consultores
Tenente Coronel Antonio Carlos Carballo Blanco PMERJ
Jacqueline de Oliveira Muniz UCAM - GEE/UFRJ
Parceiros Institucionais
Pas
Argentina
Brasil, Minas
Gerais
Brasil, Rio
Grande do Sul
Colmbia
Chile
El Salvador
Guatemala
Mxico
Nicargua
Peru
Venezuela
Instituio
Fundacin Fundar Justicia y Seguridad
CRISP Centro de Estudos de
Criminalidade e Segurana Pblica
Guay
Milnio
FLACSO - Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
FESPAD - Fundacin de El Salvador
Para la Aplicacin del Derecho
IEPADES - Instituto de Enseanza
para el Desarrollo Sostenible
Insyde - Instituto para la Seguridad y la
Democracia
Universidad Centroamericana
IDL - Instituto de Defensa Legal
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Representante
Santiago Veiga
Claudio Beato
Elenice de Souza
Helena Bonum; Luiz Antnio
Brenner Guimares
Hugo Acero
Lucia Dammert
Edgardo A. Amaya Cbar
David Cruz
Carmen Rosa de Len Escribano
Leslie Sequeira Villagrn
Ernesto Lpez Portillo Vargas
Ernesto Cardenas Villarello
Marco Valle Martnez
Ernesto de la Jara
Gustavo Gorriti
Soraya El Achkar
Policiais membros da Rede
Pas
Argentina
Representante
Guillermo Nicols Zalaya
Ruben Adrian Rodrguez
Rubens Fabian Rebuffo
Marco Antnio Bicalho
Wagner da Silva Sales
Robson Rodrigues da Silva
Carmen Isabel Andreola
Jun Sukekava
Martim Cabeleira de Moraes Jr
Carlos Pino Torres
Hernando Hevia Hinojosa
Marcelo Alberto Yaez Palma
Julio Csar Sanchez Molina
Yed Milton Lpez Riao
Hugo Armando Ramrez Meja
Nelson Edgardo Campos Escalante
Olga Alfaro de Pinto
Edwin Chipix
Marlon Esteban
Rosa Mara Jurez Aristondo
Luis Gabriel Salazar Vzquez
Juan Sonoqui Martinez
Reyna Biruuete Ponce
Elizabeth Rodriguez Obando
Jos Francisco Aguilera Ferrufino
Xavier Antonio Dvila Rueda
Eduardo Guillermo Arteta Izarntegui
Julio Diaz Zulueta
Lucas Nuez Crdova
Aimara Aguilar Ruiz
Luis Alberto Pacheco
Jorge Luis Sar
Instituio
Policia de la Provncia de Crdoba
Polica de la Provincia de Buenos Aires
Polica de la Provincia de Neuqun
Polcia Militar do Estado de Minas Gerais
Polcia Civil do Estado de Minas Gerais
Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro
Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul
Polcia Civil do Estado do Rio Grande do Sul
Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul
Polica de Investigaciones de Chile
Carabineros de Chile
Carabineros de Chile
Polica Nacional de Colombia
Polica Nacional de Colombia
Polica Nacional Civil
Polica Nacional Civil
Polica Nacional Civil
Polica Nacional Civil
Polica Nacional Civil
Polica Nacional Civil
Polica Estatal de la Direccin de Polica del
Estado de Quertaro.
Polica Preventiva Municipal de Cajeme, Sonora,
Mexico.
Agencia Federal de Investigacin
Polica Nacional de Nicaragua
Polica Nacional de Nicaragua
Polica Nacional de Nicaragua
Polica Nacional de Per
Polica Nacional de Per
Polica Nacional de Per
Cuerpo de Seguridad y Orden Pblico del
Estado Aragua
Cuerpo de Seguridad y Orden Pblico del
Estado Aragua
Polica Municipal de San Francisco - Maracaibo
Brasil
Chile
Colmbia
El Salvador
Guatemala
Mxico
Nicargua
Peru
Venezuela
1 9
PARTE I - POLCIA E ESTADO
Reporta-se ao contexto histrico e poltico do
relacionamento entre o Estado, Governana e a Segurana
Pblica, no qual se inscreve a trajetria da inveno da polcia
como instrumento para o exerccio do mandato do uso da
fora no Estado de Direito e suas implicaes nas sociedades
democrticas.
Enfatiza a distribuio do poder de coero no Estado,
as exigncias polticas e normativas, as fontes de legitimao
e as salvaguardas sociais para a construo de alternativas
pacficas de produo de obedincia sob consentimento
social.
2 0
2 1
B
R
A
S
I
L
Artigo
DA ACCOUNTABILITY SELETIVA PLENA
RESPONSABILIDADE POLICIAL
1
Profa. Dra. Jacqueline de Oliveira Muniz
*
Prof. Dr. Domcio Proena Jnior
**
Nota Inicial dos Autores: Foi uma deciso autoral utilizar
alguns termos em ingls sem traduzi-los, escolhendo explicar o
significado que se atribuiu a eles de forma sumria antes de
aperfeioar o seu contedo. Isso pareceu necessrio porque o esforo
de sua traduo no produziu resultados satisfatrios, ou mesmo
amplamente difundidos, ao longo do tempo. Ter que ligar com os
(mal)entendidos prvios no serviria ao propsitos deste texto, da
o seu uso como um tipo de jargo, ao incio, e com a ambio de
categorias a partir de seu detalhamento
2
.
1. INTRODUO
O que accountability
3
policial? Essa a pergunta que anima o
presente ensaio. Sua ambio a de expor os limites da leitura que toma
a accountability policial como uma espcie de concesso expediente a
uma demanda externa oriunda de uma ou outra fatia do pblico. Enfim,
como algo adicional, dispersivo, ou at restritivo ao trabalho da polcia.
Ao contrrio, este texto argumenta que a accountability consiste no espao
por excelncia de vivificao do mandato policial, to importante para a
polcia quanto para o pblico a quem ela serve. Apresenta a accountability
como algo intrnseco, vital, multiplicador e essencialmente benfico para
*Jacqueline Muniz - Professora do Mestrado em Direito da Universidade Candido Mendes.
Diretora Cientfica do Instituto Brasileiro de Combate ao Crime (IBCC). Consultora da Rede de
Policiais e Sociedade Civil na Amrica Latina.
**Domcio Proena Jnior Professor da Coppe/UFRJ, Ordem do Mrito da Defesa, Membro
do Instituto Internacional de Estudos Estratgicos (IISS, Londres) e da Associao Internacional
de Chefes de Policia (IACP, Leesburg, Va), Diretor Cientfico do Instituto Brasileiro de Combate
ao Crime (IBCC).
o trabalho policial.
justo colocar alguns elementos que permitam a quem se aproxima
deste assunto pela primeira vez, ou que apenas volte a ele sem t-lo
estudado, compreender algo do estado atual da discusso. Nos ltimos
anos, talvez mesmo na ltima dcada, as discusses sobre como aprimorar
2 2
ou mesmo ampliar a accountability tm sido marcantes. Elas tm sido
tomadas como um dos mais importantes rumos para a modernizao, a
melhora do desempenho, o incremento da qualidade, do controle, e de
tudo o mais que se possa associar atividade policial. Isso tem se traduzido
de diversas maneiras. H quem veja accountability como o resultado da
adoo de determinadas rotinas, procedimentos e formas de relato das
atividades policiais. H quem a entenda como uma ampla demanda por
transparncia sobre o que a polcia faz, como faz, e por que faz o que faz.
H ainda quem a entenda como uma forma de monitorar, e controlar, a
ao policial em tanto detalhe e to prximo do tempo real quanto possvel.
Essas amplitude, promessa e alternativas da accountability como vereda
do progresso policial precisam ser qualificadas.
O que , por que, e como acompanhar, orientar, avaliar e
control ar, a ao da pol ci a no so questes novas, recm-
descobertas. Em verdade, esto na raiz da criao das polcias
modernas. So mesmo aquilo que fez de determinadas organizaes
de fora, polcias e modernas. O que se v hoje mais um captulo da
histria das formas de como se responder a estas questes, e de como
as respostas elaboradas no passado dialogam com a construo de
respostas no tempo presente. Estas perguntas servem, mesmo, como
uma chave para compreender o percurso das histrias das polcias.
Elas permanecem no porque no tenham tido respostas satisfatrias
ou suficientes, mas porque as respostas de cada perodo, para cada
polcia, em cada mandato policial, numa certa sociedade, foram e
seguem sendo a materialidade de seu aprimoramento. Estas mesmas
perguntas estruturais levaram a novas formulaes em novas bases.
H, portanto, algo de verdade na impresso de tantos policiais de que
na polcia nada se cria de novo, desde que se qualifique. A reedio
destas mesmas perguntas anuncia uma estabilidade essencial: o exerccio
sempre atual, cambiante em meios, e constante em propsitos, do
mandato policial.
Essa carga presente e essa herana de histria deixam diversas
questes sobre accountability policial. Existe um modelo ideal a ser
seguido? Ou, ao contrrio, cada lugar deve ter sua accountability policial
particular, caracterstica de seu tempo? A accountability policial uma
questo poltica? Em que sentido? A accountability policial uma
discusso sobre como ser popular, ou aprovado, pelo pblico? Ou ela
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
2 3
uma discusso sobre como melhorar a polcia? Qual a diferena entre
uma e outra? A accountability policial uma questo tcnica? Em que
sentido? uma discusso sobre qual a melhor rotina, o melhor
mecanismo, a regularidade mais benfica ou o formato de relato mais
preciso? Ou ela uma discusso sobre como relacionar decises
policiais com resultados policiais, seus efeitos e conseqncias? Ou ela
um pouco de tudo isso? Ou mais algumas coisas que outras?
Voltamos assim ao incio, compreendendo um pouco a sua razo de
ser. Essa a lacuna presente: afinal, o que accountability policial?
Essa resposta tem duas partes, as duas partes deste texto. A
primeira a que busca explicar o que accountability, ela mesma. Trata-
se de um exerccio exploratrio, que ensaia corporificar para um idioma
latino termos do ingls que no tm mais, realmente, como serem
simplesmente traduzidos. A se estabelece o que accountability em
geral, de forma universal.
A segunda parte da resposta busca aplicar os resultados da primeira
parte para o caso da accountabi l i ty pol i ci al . Trata-se de um
desdobramento que aproveita uma diversidade de resultados dos
Estudos Policiais no tema da accountability policial. devedor de uma
variedade de estudos e trabalhos, listados nas referncias bibliogrficas,
mas que no tm atribuio pontual ao longo do texto (que o que seria
correto, no fosse este um ensaio). Isso no significa que no se
reconhea, aprecie e, de fato, se use o que estes trabalhos e autores
tinham a dizer. Ao contrrio, a apresentao que se faz seria impossvel
sem eles. apenas que nesta ocasio fazer-lhes justia na forma adequada
roubaria espao do que se deseja dizer. Um breve conjunto de
consideraes finais permite um relance parte do dbito que se deve
a estes autores e obras.
2. O QUE ACCOUNTABILITY?
Essa uma pergunta necessria, porque h diversas respostas e
interpretaes. Algumas so contraditrias entre si, outras so vagas e
conciliatrias, e outras mais se apresentam como desdobramentos,
expanses ou acrscimos de diversas inspiraes, com distintos focos e
contedos. Ser obrigado a, prestar contas, dar satisfao, responder
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
2 4
por, explicar, esclarecer, justificar, obter a aprovao, identificar
responsveis, controlar, monitorar, aditar, supervisionar, gerir,
administrar, avaliar e diagnosticar, premiar e punir, corrigir e
aperfeioar, tornar pblico, ou dar a conhecer ou divulgar, fazem
parte da extensa lista de significados atribudos, ou atribuveis,
accountability policial. O que seja ou deva ser a accountability policial na
prtica tem uma forte componente contextual. Expressa processos
histricos particulares, realidades e arranjos locais. A accountability
policial recebe diversas terminologias mais especficas ou de ambio
mais universal conforme caractersticas culturais, composies polticas,
compromissos institucionais, vivncias corporativas, prescries ou
modelos de mudana.
Essa diversidade no gratuita: traz consigo questes e aspectos
relevantes do fazer e gesto policiais que no podem ser ignorados ou
esquecidos. Situa o que seja ou deva ser a accountability policial em um
determinado estgio de discusso, entendimento ou instrumentalizao.
Corresponde, na vida prtica, a uma bricolagem de vises, crenas,
expectativas e rotinizaes convergentes ou no. Reflete a necessidade
de respostas pragmticas, que atendam a demandas ou presses pblicas,
diante de resistncias ou adeses corporativas. A dinmica que aperfeioa
a accountability depende em boa medida do questionamento cotidiano
sobre o que , por que, para quem, para que, sobre o que, como,
quando, e quem faz o account, o relato para produzir accountability,
pol i ci al . Mas quando este questi onamento fi ca restri to ao
experimentalismo, isto , a uma compreenso da prtica pela prtica na
prtica, arrisca-se a confundir fins com meios, mecanismos com
instrumentos, rotinas com procedimentos. Confunde-se o que ser
accountable, estar sujeito a ter que produzir accountability, com a
feitura do account e com a accountability policial em seus diversos usos.
A accountability policial carece de uma formulao propriamente
conceitual, de raiz terica, que estabelea o que essencial e invariante
no processo de account e, sobretudo, no account da polcia. S assim
se pode compreender, e valorar, o que especfico e particular na
accountability policial. S a partir da se pode apreciar de maneira
sistemtica a variedade do estado-das-(suas)-prticas, compreendendo
sua riqueza, aferindo seus avanos e retrocessos. Tal formulao, por
isso mesmo, deve ser capaz de revelar a unidade sistmica e abrangente
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
2 5
que circunscreve e explica todas as lgicas, sentidos e usos de
accountability policial.
A necessria limpeza do terreno rumo construo do conceito
de accountability policial comea por deixar claro que no h nada de
particularmente distintivo, especial ou indito no fato de que a polcia
tenha de ser accountable. Qualquer indivduo, grupo ou instituio que
recebe um mandato accountable queles indivduos, grupos ou
instituies que lhe delegaram tal mandato.
2.1 O que um Mandato?
Todo mandato compreende a outorga de determinado poder por
uma constituency, pessoa ou grupo que delega autoridade, ou se faz
representar, para quem venha a exerc-lo em seu nome para um
determinado fim. Um mandato uma procurao, uma delegao, uma
incumbncia para praticar certos atos, num certo assunto, para uma
determinada finalidade, de uma determinada maneira, em nome desta
constituency. Todo mandato traz consigo a concesso de poderes
da parte de quem o concede e a assuno de responsabilidades
da parte de quem o recebe.
Existem os mais diferentes tipos de mandatos. Mandatos podem
ser provisrios, contingentes, de durao longa ou indefinida; podem
autorizar a poucos ou a muitos; podem expressar atribuies restritas
ou de grande extenso; podem estabelecer termos mais estreitos ou
mais amplos para sua execuo. Com tudo isso, pode-se extrair de
qualquer mandato um ncleo comum de responsabilidades que
corresponde prpria condio de possibilidade da idia de mandato.
Quem recebe um mandato, qualquer mandato, recebe poderes
delegados que so definidos, esto condicionados e se explicam pela
busca de determinadas finalidades. Quem recebe um mandato, qualquer
mandato, compromete-se a:
i) Usar os poderes delegados apenas para buscar o
fim que justifica o mandato;
ii) Exercer os poderes delegados escolhendo meios
e formas de ao (ou inao) que no contradigam
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
este fim;
2 6
iii) Responder por estas escolhas, seus resultados e
conseqncias, luz deste fim.
2.2 O que ser Accountable?
Ser accountable ser responsvel pela obrigao de atender
a estas exigncias intrnsecas a qualquer mandato. Ser accountable
um atributo inseparvel de quem aceita um mandato. Ser accountable ser
responsabilizvel por tudo que se venha a fazer no exerccio de um mandato.
Isto significa dizer que quem recebe um mandato , ipso facto, accountable:
a despeito de reconhecer-se (ou no) como tal; mesmo quando no se tem
demandas explcitas de quem concede o mandato; independentemente da
existncia de mecanismos, instrumentos, rotinas e procedimentos pelos
quais fazer account. Por exemplo, quem recebe uma procurao particular
da venda de uma casa torna-se accountable, responsabilizvel, por esta venda.
Pode ser chamado a se explicar, a qualquer momento, por quem deu a
procurao, pelo preo, pelas condies da venda ou quaisquer outras
questes relacionadas com o mandato da venda da casa. E isso assim,
mesmo que no se tenha explicitamente mencionado tal possibilidade quando
se deu a procurao, ou mesmo que no se tenha determinado como tal
prestao de contas deveria ser feita.
2.3 O que o Account?
Fazer account o processo pelo qual se materializa a obrigao
de ser accountable, identificando responsabilidades no exerccio de
um mandato. Fazer account o processo pelo qual se identificam as
relaes de causa e efeito entre escolhas, seus resultados e conseqncias
no exerccio dos poderes delegados. Fazer account relatar
responsabilidades decorrentes da liberdade de escolha contida num
mandato. esclarecer contexto e contedo das escolhas de meios e formas
de ao (ou inao), considerando o exerccio de poderes delegados luz
das finalidades de uma delegao recebida. Isto significa dizer que as prprias
escolhas realizadas no cumprimento de um mandato instruem os termos
de seu account, a despeito da existncia prvia de normatizao, regularidade
ou padronizao de mecanismos, instrumentos, rotinas ou procedimentos.
Fazer account se beneficia, mas independe, de alguma
institucionalidade pr-estabelecida, porque decorre diretamente do relato
de contexto e contedo das escolhas realizadas. Pode-se inaugurar a feitura
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
2 7
de account sobre o que quer que se deseje conhecer, a qualquer momento,
diante de qualquer questionamento, ao redor de qualquer questo que
remeta ao, ou referencie o exerccio do mandato. Dito de outra forma,
sempre possvel inaugurar a feitura de account tendo como referncia to
somente a considerao direta do contexto e contedo de escolhas,
apreciando resultados e conseqncias, diante, contra, ou na ausncia de
uma institucionalidade que o enquadre. Dar conta do desmoronamento
da parede de uma escola pode, por exemplo, inaugurar a rotina de account
sobre as condies e decises da manuteno dos prdios escolares.
A autonomia diante de uma institucionalidade prvia a maior virtude
do account, cujos fazeres podem inaugurar, (re)criar, (re)definir, emendar,
excluir, reduzir ou ampliar mecanismos, instrumentos, rotinas ou
procedimentos diante de questionamentos os mais diversos. Essa
maleabilidade compreende e esclarece a diversidade dos processos de
account, cada um deles especfico porque orientado pela busca de resposta
a um questionamento singular quanto a um exerccio, tambm singular, de
um mandato. Os processos de account se adequam, e por isso, retratam
as especificidades das realidades locais em termos de objetos, formas e
arranjos distintos.
possvel fazer diversos accounts sobre as mesmas escolhas,
resultados e conseqncias em funo de questionamentos, prioridades
ou demandas sociais, polticas, econmicas, organizacionais, etc.. Por
exemplo, pode se fazer diferentes accounts de um mesmo evento: o
exerccio oramentrio de uma organizao. Pode-se fazer um account
que prioriza despesas de capital, outro que prioriza as despesas de custeio,
outro ainda que se ocupa das despesas de pessoal; um account que enfoca
principalmente o fluxo de caixa, outro que se debrua sobre a
temporalidade do controle de gastos. Cada um destes accounts pode, ou
no, conter elementos suficientes para responder a outros
questionamentos. Mas, em princpio, cada account s seria suficiente ou
completo para atender ao questionamento que lhe deu origem, produzindo
respostas: accountability.
2.4 O que Accountability?
Accountability o produto do account, um resultado
especfico que atribui responsabilidades a quem se tornou
accountable pela aceitao dos poderes delegados de um mandato.
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
2 8
Accountability a resposta concreta a um dado questionamento que
orientou a feitura de um determinado account. a resposta que d
instrumentalidade s responsabilidades identificadas por determinadas
escolhas, resultados e conseqncias no uso de poderes delegados, luz
de determinado fim. Accountability corresponde identificao de um
curso de responsabilizao de indivduos, grupos ou instituies que foi
extrado de um determinado account. Isto significa dizer que
accountability o produto que permite converter e materializar
responsabilidades em responsabilizao.
possvel extrair diversas accountabilities de um mesmo account.
Por exemplo, questionam-se as despesas de capital na execuo de um
oramento. Para responder esse questionamento, para produzir
accountability sobre essas despesas, se faz um determinado account. Mais
tarde, questionam-se as despesas de pessoal na execuo deste mesmo
oramento. Verifica-se que o account que foi feito, originalmente, para
dar conta do questionamento sobre as despesas de capital, j contm os
elementos de informao necessrios para produzir uma outra
accountability, que responde satisfatoriamente a esta nova questo. Neste
caso, um mesmo account produziu no s a accountability sobre despesas
de capital como a accountability sobre despesas de pessoal.
O fato que um mesmo account pode vir a produzir vrias
accountabilities revela o potencial de economias de escala e mbito na
produo de accountability. Quando se soma isso virtude do account
iniciar, consolidar ou rever a institucionalizao de seus fazeres, percebe-
se como uma abordagem sistmica para a produo de accountability
pode ser til. Esta abordagem apresenta-se como um desdobramento
lgico e conseqente do atributo de ser accountable, e da necessidade de
fazer accounts diante da exigncia de se produzir accountabilities sobre o
exerccio de um mandato.
Pode-se institucionalizar a feitura de accounts abrangentes, que
possibilitem um conjunto de accountabilities afins ou relacionadas, sempre
que houver demanda por qualquer uma delas. Isso pode refletir o
aprendizado de uma organizao, sua memria cumulativa de accounts e
accountabilities; pode dar conta de prioridades explcitas ou de
questionamentos recorrentes. Por exemplo, diante da demanda regular
por accountabilities quanto s despesas de capital, pessoal ou custeio de
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
2 9
um oramento, razovel institucionalizar o procedimento pelo qual a
feitura de um account do oramento atenda a qualquer uma delas.
Economizam-se recursos, evitando a duplicao de esforos que ocorreria
se cada demanda tivesse que ser atendida por um account em separado.
Viu-se que um nico uso de poderes delegados pode ser objeto de
diversos accounts. Constatou-se, tambm, que um mesmo account pode
servir produo de distintas accountabilities. Cabe, ainda, evidenciar
que uma mesma accountability pode vir a ter diversos usos.
Figura 1. Fluxos de Accounts, Accountabilities e seus Usos.
Em si mesma a accountability responde s duas questes conexas
que atendem ao exerccio de qualquer mandato: permite a quem recebe
mostrar-se digno da delegao recebida e a quem outorga aferir
se esta delegao, ou seu exerccio, segue atendendo a seus
propsitos. Por esta razo, a accountability pode servir de base a diversos
tipos de juzo e, por sua vez, a uma variedade de aplicaes para quem
recebe ou outorga um mandato. A accountability pode ser parte de
esforos que buscam rumos para o aprimoramento de prticas, ou para
o controle do desempenho de indivduos e grupos, ou para a aferio de
custos diante de benefcios. Pode alimentar a formulao de policies,
polticas, diretrizes institucionalmente situadas ou planejamentos, a
avaliao da adeso a prioridades, procedimentos e rotinas. Por exemplo,
a accountability oramentria pode contextualizar e mesmo justificar
mudanas de prticas contbeis, alteraes na legislao, criao de novas
instncias de controle, supresso ou expanso de rubricas, alocao de
mais recursos e, at mesmo, a redefinio dos termos pelos quais se faz
e executa um oramento.
As inmeras aplicaes que podem usar da accountability explicam,
em larga medida, que se confunda o seu contedo com a sua
instrumentalidade, ou melhor, com as possibilidades e impactos do seu
uso. Assim se chega a listas como as apresentadas ao incio do texto, cujo
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
3 0
equvoco o de tomar um dentre muitos usos possveis como definidor
do que seja a accountability. Tem-se com isso um lapso lingstico
corriqueiro, que induz ao erro que oculta, perverte ou restringe o
entendimento integral de todos os usos, que o de converter
responsabilidades em responsabilizao. Por isso, accountability permite
prestar contas, mas prestar contas no e no esgota tudo o que se
pode extrair da accountability. A isto se acrescenta um outro problema
derivado da tolerncia para com essa impreciso: o de se impor um
entendimento restritivo, que embaraa a compreenso ou mesmo
desqualifica arranjos vlidos de accountability que do conta de realidades
locais. Se prestar contas e apenas prestar contas accountability, ento
quem identifique cursos de responsabilizao para outros fins, o auto-
aperfeioamento ou a aderncia s normas legais, por exemplo, no estaria
produzindo accountability? Estaria sim, porque o que distingue e estabelece
a accountability a responsabilizao pelo que se faz ou deixa de fazer,
seus resultados e conseqncias.
Com tudo isso, a accountability pode ter muitos usos, mas no
serve a qualquer propsito. Alcana somente o que foi realizado, as
escolhas que foram feitas e as conseqncias destas escolhas no
cumprimento de um determinado mandato. por isso que no se pode
tratar o (processo de) account como sinnimo dos diversos usos que
podem ser dados aos seus resultados (accountability). Da mesma forma,
no se pode confundir accountability com alguma forma de gesto.
Accountability pode orientar as tomadas de deciso. Pode subsidiar a
elaborao de novas normas ou sugerir o emprego de certos instrumentos
de gesto ao invs de outros, por exemplo. Mas isto no quer dizer que
se administre por accountability. Ao contrrio, se faz account sobre como
se administrou. A accountability reporta-se, exclusivamente, ao repertrio
de respostas a questes e implicaes oriundas das escolhas feitas em
prol dos fins estabelecidos na delegao ou incumbncia recebida. Toda
accountability tem, portanto, dois limites insuperveis que circunscrevem
sua realizao: o que decorre da natureza de qualquer account e o que
corresponde aos contedos pelos quais se accountable.
2.5 Quais so os Limites do Account e da Accountability?
Um account s account porque diz respeito ao que j
aconteceu. Refere-se a escolhas feitas no passado. Todo account
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
3 1
inescapavelmente a posteriori. Da decorre a impossibilidade de se fazer
account em tempo real ou em antecipao a uma escolha. No h como
fazer o account de algo que ainda no se fez; de algo que ainda no se
terminou de fazer; de um contra factual; de uma conjectura; de uma
possibilidade no realizada; enfim, de um desejo. Assim, inexeqvel
fazer o account de um tratamento mdico que nunca existiu. Da mesma
forma, impossvel fazer o account de uma aula de literatura que o
professor ainda no encerrou. tambm absurdo fazer o account da
suposio de que a porta seria arrombada pelo bombeiro mesmo se no
tivesse ocorrido um incndio. Por fim, nonsense fazer o account da
inferncia de que o policial teria sido racista caso a vtima fosse negra. Um
account s account porque relata algo que j teve incio, meio e fim; algo
em que se fizeram escolhas diante de uma situao, e j se conhecem
seus resultados e conseqncias.
S se e s se pode ser accountable pelo que se fez ou deixou
de fazer em prol do fim que justifica a delegao recebida de uma
dada constituency. Isto significa dizer que se accountable sobre um
determinado conjunto de coisas, que correspondem aos termos
especficos que singularizam um determinado mandato, ou seja, o que se
poderia descrever como sendo seu mbito, alcance e contornos.
O mbito de um mandato estabelece o objeto sobre o qual incidem
os poderes delegados. Isto pode se expressar em requisitos ou restries
para e da ao; pode incluir um evento ou classes de eventos; abranger
distintos indivduos e grupos em diversas circunstncias; compreender
determinados locais, lugares ou territrios. Por exemplo, socorrer como
requisito, o afogamento como evento, os banhistas de uma praia durante
o dia como abrangncia, e as praias pblicas como territrio poderiam
expressar o mbito do mandato de uma determinada organizao de salva-
vidas.
O alcance de um mandato distingue quem exerce os poderes
delegados. Esclarece sobre a exclusividade, concorrncia, sobreposio
ou compartilhamento de uma mesma delegao ou entre delegaes
distintas que incidem sobre um mesmo objeto. Por um lado, distribui a
execuo de um nico mandato entre diversos agentes delegados. Por
outro, baliza as linhas divisrias entre mltiplos mandatos (e seus
procuradores), que possuem ou podem possuir mbitos coincidentes.
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
3 2
Por exemplo, o socorro aos banhistas nas praias pblicas , ou pode ser,
compartilhado por salva-vidas, paramdicos, policiais ou at pelos prprios
cidados; mas o salva-vidas que tem precedncia no salvamento no mar,
como entre os salva-vidas h precedncia sobre quem ir agir num
determinado caso.
Os contornos de um mandato determinam como se pode exercer
os poderes delegados. Indicam exigncias e predilees de quem outorga
o mandato sobre alternativas desejveis ou tolerveis de ao. Estabelecem,
portanto, as fronteiras contextuais do que se est autorizado a fazer.
Identifica o que estaria aqum ou alm da inteno da procurao concedida.
Em outras palavras, os contornos de um mandato arrolam determinados
modos e meios de agir ou fazer; tipos particulares de capacidade de
ao; os requisitos expressos em determinadas legislaes, normas ou
procedimentos, associados a uma dada qualificao profissional ou contidos
nos elementos de determinada prxis. Por exemplo, impedir banhistas de
entrarem num mar bravio est aqum da autorizao dada aos salva-vidas
que podem apenas usar de procedimentos de alerta; da mesma forma,
impedir um banhista resgatado de voltar ao mar est alm desta
autorizao. Num salvamento no mar, a autorizao pode desaconselhar
ou excluir alternativas de resgate que vitimem o banhista em funo de
cdigos ou normas estabelecidas; pode ainda, diante de resistncias do
banhista, recomendar ou preferir alternativas mais ou menos impositivas
que permitam o resgate.
As liberdades de escolha de quem outorga um mandato e de quem
o recebe impem nveis de flexibilidade intrnsecos, essenciais ao exerccio
concreto de poderes delegados. Isto empresta especificidade e
singularidade ao mbito, alcance e contornos do exerccio de um mandato.
dizer: uma medida de arbtrio perpassa qualquer delegao recebida
desde a sua definio at as alternativas reais de seu cumprimento. Tem-
se, assim, mltiplas instncias de discricionariedade que se combinam e
interagem, respondendo s demandas de uma constituency. Resultam a
seu turno de vises e interesses em conflito e em barganha daqueles que
concedem e recebem um mandato.
Na prtica, isto se traduz em um processo continuado de afirmao
ou alterao dos termos de um mandato. Reafirma-se ou modifica-se o
mbito o alcance e os contornos de uma procurao, repartindo-a entre
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
3 3
distintos delegados ou mandatos. D-se conta de intersees,
justaposies ou lacunas. Modifica-se mbito, alcance, contornos, afinando-
os tanto s expectativas da constituency quanto pela considerao de meios
e capacitaes disponveis ou possveis aos agentes delegados (estado-
das-prticas ou at estado-da-arte). V-se aqui o destino supremo do
account, que seria, por si s, razo suficiente para ser accountable. Revela-
se o propsito primeiro, ou a materialidade fundante, dos diversos usos
da accountability: o aperfeioamento do mandato.
2.6 Por que Full Responsibility Selective Accountability?
Ser accountable, fazer account e produzir ou oferecer
accountability constituem, em seu conjunto e integralidade, a
contraparte dos poderes delegados de um mandato. Correspondem
ao atributo de ser responsabilizvel, ao processo de identificar
responsabilidades, e responsabilizao por escolhas, resultados e
conseqncias no exerccio de um mandato luz de seu fim.
-se, a priori, responsabilizvel, accountable, por tudo o que se faz,
ou se deixa de fazer, no exerccio de um determinado mandato. Neste
sentido, a responsabilidade pela delegao recebida , em si mesma,
sempre plena. Tem-se sempre full responsibility, -se sempre integralmente
responsabilizvel pelo (que se faz no) uso dos poderes delegados.
Embora se seja accountable por tudo, no se pode fazer account,
ou produzir accountability, de tudo. H limites insuperveis para a ambio
de uma full accountability, de uma plena responsabilizao, que exaurissem
todas as escolhas realizadas por cada um dos atores envolvidos, dando
conta de todos os resultados e conseqncias em cada evento relacionado
ao exerccio de um mandato
4
.
impossvel esgotar ou reconstituir todos os cursos de ao, suas
condies e efeitos. impossvel esgotar ou reconstituir plenamente a
realidade em toda a sua riqueza e complexidade. impossvel saber tudo,
dar conta de tudo. As escolhas, resultados e conseqncias no uso dos
poderes delegados, que se tornam objetos de account para produzir
accountability, constituem um recorte da realidade. Reportam-se a um
evento ou conjunto de eventos concretos, que foram selecionados em
funo de questionamentos, prioridades ou demandas. Revelam uma forma
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
3 4
particular de olhar, recortar, apreender, reconstruir uma dada realidade
que se quer conhecer. Expressam instncias de discricionariedade que
vo, desde um questionamento individual, passando pelas rotinas de quem
exerce o mandato, at o atendimento de demandas explcitas da
constituency.
Por conta disto, a concreo do account para produzir accountability,
e da prpria accountability, por natureza, seletiva, pois fica sempre aqum
da pretenso de se saber tudo sobre tudo. Est sempre, de alguma forma,
limitada pelas circunstncias, pela realidade. Mesmo uma accountability
que se anuncia como plena est fadada a ser seletiva. Se a quimera de uma
full accountability potencial, latente em qualquer mandato, como espelho
do atributo de ser-se accountable, a selective accountability que vige
como realidade do exerccio de qualquer mandato.
H questes em que a responsabilizao desejada almeja aproximar-
se o mximo possvel de uma full accountability. Isto conduz a uma
accountability exaustiva das escolhas realizadas num certo evento, seus
resultados e conseqncias. Por exemplo, comum que se ambicione
fazer um account exaustivo do dispndio de fundos pblicos. Neste caso,
os mais diversos cursos de responsabilizao, expressveis em
accountability, tornam-se relevantes para se produzir uma resposta que
vai desde os porqus e como(s) de um gasto individual at o limite daqueles
gastos que so explicveis num oramento. Note-se que esta busca por
uma resposta exaustiva, baseada num account exaustivo, para uma
accountability plena, segue sendo seletiva, no caso, limitada ao que se
pode saber, ao que se pode reconstruir, ao que se pode explicar.
H situaes em que a responsabilizao desejada satisfeita pela
produo de uma accountability que est deliberadamente muito aqum
do que seria o limite do possvel. Neste caso, a accountability atinge apenas
algumas, mas no todas as escolhas, resultados ou conseqncias contidas
em determinados eventos ou classes de eventos. Qual seja o critrio de
seleo, orienta-se pela demanda de responsabilizao: pode privilegiar
determinadas escolhas (operar ou no, na medicina); ou determinados
resultados (insucesso de transplante); ou determinadas conseqncias
(morte do paciente). Qualquer um destes critrios pode estar posto, a
priori, quando da aceitao do mandato; pode ser posto em vigor num
determinado momento, por um determinado prazo; ou pode nascer de
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
3 5
uma demanda por accountability a partir de um caso individual. Todas
estas possibilidades refletem instncias de discricionariedade, seletividade
na produo de cursos de responsabilizao desejados. Por exemplo,
comum que a accountability no ensino seja explicitamente seletiva, confinada
ao acompanhamento de determinados resultados: o plano de aulas, o
nmero de horas-aula dadas e apresentao de fichas de presena e
notas de alunos. Mas a administrao escolar pode demandar account das
escolhas de quem ensina diante de uma dvida ou uma denncia de certos
resultados ou conseqncias. Quem ensina accountable por tudo, mas
s se produz accountability para alm destes itens usuais sob demanda.
Essa demanda pode estar condicionada a uma rotina, uma amostra entre
diversos casos ou a prazos regulares; pode responder ocorrncia de
algum fator diferenciador que chamou a ateno; mas podem tambm
corresponder exclusivamente a demandas ad hoc, expedientes, volitivas,
nascidas do exerccio de discricionariedade de quem concede ou de quem
recebe o mandato.
A realidade dos mandatos a perspectiva de full responsibility
por meio de selective accountability
5
. A responsabilidade plena se realiza
na identificao (account) e pela atribuio (accountability) seletiva de
responsabilizao. Esta seletividade, nascida de decises discricionrias
motivadas por questionamentos, prioridades ou demandas, encadeia uma
sucesso de tradues do que potencial no que se pode obter do real,
cujo rumo o da qualificao progressiva da responsabilidade concreta
de quem exerceu poderes delegados. Por meio de accounts, converte-se
a priori o responsabilizvel em cursos de responsabilidades identificadas.
Por meio do account, vai-se do potencial daquilo pelo que se
responsabilizvel (accountable) para a identificao de responsabilidades
no desenrolar de um determinado evento. Atravs da accountability, vai-
se destas responsabilidades para a responsabilizao de indivduos, grupos
ou instituies por determinadas escolhas, seus resultados e conseqncias
neste evento. Tem-se, portanto, um encadeamento de discricionariedades,
de seletividade, que articula sobre o que se accountable, qual
accountability se deseja, e qual account pode produzi-la.
H ainda um outro aspecto fundamental a ser considerado para que
se possa compreender como se tem full responsibility por meio de selective
accountability. Trata-se da questo das externalidades. No mundo real h
mais que intenes e escolhas. H acaso, h imponderveis, h
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
3 6
acontecimentos que independem da vontade humana, e que alteram ou
podem desviar o rumo das aes, seus resultados e conseqncias. Por
esta razo, no se accountable por tudo o que acontece, ou por todos
os resultados e conseqncias de uma forma particular de decidir ou agir.
No cabvel ser accountable por externalidades, pelo que quer
que acontea no exerccio de um mandato que no seja decorrente de
escolhas. Contudo, -se accountable pelo que se fez ou deixou de fazer
diante de externalidades. -se, ainda, accountable pelo que se fez ou deixou
de fazer diante da possibilidade da ocorrncia de externalidades
previsveis. Note-se que no h nenhuma contradio entre natureza a
posteriori do account e a sua realizao sobre decises ou aes diante de
uma possibilidade. O que est em jogo o account sobre o que se fez no
passado, diante da oportunidade de um determinado evento futuro. Trata-
se, ento, de ser accountable pelo que foi ou no foi antecipado.
Um critrio comum a pases de tradio do Direito Comum o
de limitar o alcance do ser accountable pela antecipao aos eventos
previsveis por uma pessoa razovel. Algum critrio deste tipo
necessrio para refrear uma obrigao de ser presciente sobre tudo, o
que nonsense. Serve para estabelecer sobre o que se pode ser
accountable no preparo diante de antecipaes razoveis. Como em
qualquer account, o account sobre a antecipao remete a explicao
sobre como se lidou (o que se fez ou deixou de fazer) diante da
possibilidade da ocorrncia de um evento, considerando as expectativas
da constituency e o que era possvel fazer com os meios e capacitaes
disponveis. Por exemplo, no se pode ser accountable, responsabilizvel,
pela chuva forte ou por um equipamento que falha quando dele se
necessita; mas se accountable pela preparao para lidar com a chuva
forte e pela manuteno do equipamento, porque razovel antecipar
que em algum momento ir chover forte, e que equipamentos falham
quando no so mantidos.
2.7 Uma Sntese.
Viu-se que um mandato corresponde busca de um determinado
fim pela delegao de poderes, identificando quem o outorga e quem o
recebe. A finalidade de um mandato determina os objetivos a serem
atingidos, delimitando efeitos e resultados desejados. A delegao de
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
3 7
poderes corresponde concesso de autorizaes que circunscrevem
decises, meios e aes compatveis com a busca destes objetivos. Quem
outorga um mandato responde pelo contedo, contexto e controle dos
poderes que delega. Quem recebe um mandato responde pelo contedo,
contexto e controle do exerccio dos poderes recebidos.
Viu-se que quando se recebe um mandato -se accountable por
ele, responsabilizvel por todas as escolhas, resultados e conseqncias
do exerccio dos poderes delegados diante de quem os outorgou. Viu-se
que a materialidade do ser accountable corresponde accountability,
responsabilizao, construda a partir da identificao de responsabilidades,
isto , pela feitura de um determinado account. Viu-se que a accountability
serve primeiramente ao aperfeioamento do mandato concedido,
permitindo (re)afirmar ou rever seus objetivos e poderes. Viu-se, tambm,
que ser accountable, fazer accounts e produzir accountability
correspondem, em sua totalidade, contrapartida necessria do
recebimento de poderes. Viu-se, ainda, que a realidade da full responsibility
corresponde a uma selective accountability, ou melhor, a uma accountability
do que relevante no e para o exerccio do mandato. Viu-se, por fim, que
apenas diante da caracterizao de um mandato concreto, isto , da sua
qualificao em termos de mbito, alcance e contornos, que se podem
materializar cursos de responsabilizao, accountability, institucionalizando
seus usos no mundo real.
3. ACCOUNTABILITY POLICIAL
Em um sentido geral, a accountability policial corresponde a uma
aplicao da definio de accountability aos casos particulares dos
mandatos policiais. Refere-se, to somente, ao repertrio especfico de
respostas a questes e implicaes oriundas das aes, seus resultados e
conseqncias feitos em prol das finalidades estabelecidas por estes
mandatos. Constitui, em sentido estrito, o produto do processo de account
sobre o que se fez ou se deixou de fazer por aqueles que receberam da
polity a autorizao para o exerccio de um mandato especfico, o mandato
policial. A accountability policial reflete as instncias de discricionariedade
ou dinmicas de seletividade sobre o que certa comunidade poltica quer
saber sobre o exerccio de certo mandato policial, em termos de seu
mbito, alcances e contornos.
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
3 8
3.1 O Mandato Policial
H dois elementos distintivos no mandato policial. O primeiro deles
que a constituency que outorga o mandato policial a polity. dizer: o
mandato policial concedido por uma comunidade poltica, constituda
pela sociedade e seu governo, que exerce uma dada governana num
determinado territrio. Isto significa dizer que o mandato policial , por
natureza, uma procurao pblica, e, por razes histricas, uma tarefa
estatal. Pblica, uma vez que se reporta a uma concesso da coletividade.
Estatal, j que sua administrao cabe ao governo.
O segundo que o mandato policial incide sobre a prpria polity
que o outorga. dizer: o mandato policial corresponde ao exerccio de
poderes delegados sobre a prpria comunidade poltica que os delegou.
Em outras palavras, o mandato policial a autorizao dada por uma polity
para ser, ela mesma, objeto da ao de alguns de seus integrantes.
A natureza poltica, pblica, domstica e comunal do mandato policial
permite caracterizar a sua finalidade por excelncia: sustentar a ordem
social, pactuada na e pela polity, de tal forma a impedir que o exerccio
dos poderes que a polity concede dela se emancipe, voltando-se contra
ela sob a forma da tirania do governo, opresso por seus procuradores
ou aparelhamento para propsitos particulares.
A especificidade do mandato policial a produo autorizada de
enforcement em prol da paz social ou da sustentao das regras do jogo
social estabelecidas pela polity, sem cometer violaes ou violncias. Trata-
se, portanto, de produzir alternativas de obedincia que garantam um
determinado status quo desejado numa polity, com o seu consentimento
e sob o imprio de suas leis. De forma sucinta, isso que define o mandato
policial: o exerccio do poder coercitivo autorizado pelo respaldo
da fora de forma legtima e legal.
As diversas autorizaes concedidas por uma polity para o exerccio
do mandato policial tm como fonte o poder coercitivo. Estas autorizaes
ou poderes delegados podem variar em contedo, qualidade e extenso
em cada polity. Contudo, so derivaes contextuais e funcionais que
gravitam em torno da instrumentalidade do poder coercitivo. O contedo
instrumental que materializa o poder coercitivo o uso da fora para a
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
3 9
polity, na polity, da forma que a polity estabelece. Isto impe uma
inescapvel digresso que busca esclarecer este elemento central: o uso
da fora.
No h como compreender o uso de fora como um fenmeno
autnomo, que existe em si mesmo, algo exterior s relaes sociais e, por
isso, capaz de interromp-las ou substitu-las. O uso de fora um
instrumento a servio das formas de exerccio de poder, com tudo que
este tem de paixes, vontades e interesses. A alternativa do uso de fora
expressa um modo particular de interao social, to previsvel como
qualquer outro
6
. Neste sentido, o uso de fora reflete as expectativas sociais
presentes numa comunidade poltica quanto sua possibilidade, manifestao
e conseqncia. Isto circunscreve a experimentao antecipada do uso de
fora como um fato possvel ou sua vivncia como um ato manifesto. Revela,
ainda, a integralidade das expresses empricas do uso (potencial e concreto)
de fora. Permite compreender seus efeitos, sobretudo onde a sua
manifestao em ato no teve lugar, isto , onde a apreciao de sua
potencialidade foi suficiente para dobrar vontades. Este efeito no menos
uso de fora porque prescindiu da realizao em ato. Ao contrrio, revela-
se plenamente uso de fora ao instrumentalizar coero.
Com o exposto, esclarece-se o universo de resultados plausveis
da instrumentalidade do mandato policial em termos do uso autorizado
da coero com respaldo da fora. O potencial de fora compreende os
efeitos dissuasrios e, em alguma medida, preventivos diante da perspectiva
ou mesmo apenas da possibilidade do exerccio do mandato policial. O
concreto de fora compreende os efeitos repressivos e, em alguma
medida, dissuasrios do exerccio do mandato policial.
A forma que uma dada polity estabelece para o exerccio autorizado
do uso da fora configura o rol de alternativas tticas admissveis na execuo
do mandato policial. , precisamente, a autorizao de uma comunidade
poltica ou o consentimento social, traduzido em aderncia coletiva,
pactuao poltica e dispositivos legais, que do o contedo do uso da
fora no exerccio do mandato policial. Isso to mais evidente e distintivo
quanto mais prximo se est da ao manifesta, onde a oportunidade do
concreto de fora se pe. Uma polity pode exigir, modificar, moderar ou
proibir alternativas de uso de fora, dando conta das representaes,
expectativas e contextos sociais especficos em relao ao mandato policial.
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
4 0
V-se, assim, como o uso de fora que uma polity admite, ou pode admitir,
no exerccio do mandato policial depende do que ela espera de, e consente
a, seus procuradores.
As organizaes estatais de fora capazes de atender aos requisitos
das polities para o exerccio do mandato policial diferenciaram-se das
foras armadas nos ltimos dois sculos
7
. O resultado deste processo
levou criao de diversas organizaes conhecidas hoje como polcias.
A rigor, s polcia quem recebe da polity o mandato policial como
apresentado acima, quem est autorizado a, e responde por, todos os
elementos deste mandato.
A polcia um instrumento de poder para fins restritos e
transparentes, autorizada a intervir para produzir obedincia na polity
pelo uso de fora sempre que necessrio, nas ocasies e formas
estabelecidas pela polity
8
. Por esta razo, a polcia se interpe, e se espera
que ela se interponha, entre vontades em oposio ou interesses em
conflito, enfim, em qualquer situao que ameace a continuidade dos termos
presentes que expressam as pactuaes sociais. porque a polcia existe
para preservar, sustentar, garantir que se pode caracteriz-la como
defensiva, independentemente da escolha de formas de ao antecipatrias,
preemptivas ou restauradoras.
Uma realidade fundamental emerge deste entendimento da polcia
como sendo quem recebe o mandato policial de uma polity: a qualidade
da definio e do exerccio deste mandato, isto , o modo como ele
estabelecido e executado. Trata-se de apreciar o quanto as atividades de
uma polcia se aproximam ou se afastam da integralidade do mandato
policial de uma polity, e como este mandato estabelecido e expresso.
Em outras palavras, o quanto o exerccio do mandato manifesta a adeso
e aderncia de uma polcia diante das formas estabelecidas pela polity
para a ocasio e uso dos poderes delegados. So estas consideraes
estruturais que mais imediatamente evidenciam o ciclo de responsabilizao
que conecta quem delega a quem recebe o mandato policial na busca de
sua finalidade, orientando os termos em que cada um deles responde
pelo controle, contedo e contexto da concesso ou do exerccio do
poder coercitivo. Revela-se assim como a responsabilizao, como a
accountability, percorre todo o mandato policial.
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
4 1
3.2 Discricionariedades
H diversas instncias de discricionariedade que se manifestam no
mandato policial. A primeira delas, e a mais importante, a
discricionariedade expressa nas decises da polity
9
que remetem a
mltiplos atores, contextos, e temporalidades que conformam o mandato
policial e seus termos concretos. Sociedade e governo que configuram a
governana de uma polity diferenciam-se internamente. A sociedade
constituda dos mais diversos grupos sociais que partilham e divergem
sobre crenas, valores, normas. O governo, por sua vez, contm e
expressa disputas entre grupos de interesse. Um e outro podem ou no
convergir quanto ao que seja, ou deva ser, ou o que se espera que seja o
mandato policial. O que esteja estabelecido como sendo o mandato policial
est aberto a esta dinmica de construo de legitimaes, composies
e rupturas que caracterizam a governabilidade. Revela-se, aqui, a
multiplicidade de instncias discricionais na confluncia de autorizaes,
questionamentos e direes harmoniosos ou no, emanados da polity
sobre a definio e o exerccio do mandato policial.
A segunda del as corresponde s deci ses e escol has que
selecionam qual accountability a polity, em sua diversidade, deseja,
prioriza, descarta e como a utiliza. Em termos concretos, esta instncia
de discricionariedade compreende as tomadas de deciso do governo,
da sociedade e da prpria polcia sobre o porqu de, sobre o que,
quando, como e para que produzir accountability; e mais ainda, sobre
como utilizar-se de qualquer accountability produzida ou a produzir.
Isso tem lugar tanto em termos do que esteja estabelecido antes da
ao policial quanto ainda na forma pela qual se percebe e aprecia,
neste sentido, tudo o que se possa questionar por accountability, depois
da ao policial. nesta dinmica que a selective accountability se faz,
e serve a full responsibility.
So estas discricionariedades que contextualizam e conformam a
discricionariedade no e do exerccio do mandato policial. O poder de
decidir sobre a ao policial mais adequada a um certo tipo de evento, ou
mesmo de decidir agir ou no agir numa determinada situao diante de
um evento ou de sua antecipao, revela que a tomada de deciso
discricionria a prxis essencial da polcia, do exerccio do mandato policial.
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
4 2
Por sua prpria natureza e contexto, a ao policial s pode ser
produzida atravs de uma abordagem autnoma. A produo da soluo
policial, conformada pelas discricionariedades da polity, premida pelas
circunstncias do momento e exposta s contingncias da vida social, possui
uma temporalidade particular. A ao policial responde a demandas
inadiveis, a atos ou fatos que esto em curso e que tm que ser
enfrentados, encaminhados, no agora. Por isso, a ao policial se d
num tempo presente que estendido pela durao, pelas necessidades
de resoluo, da ao. Ela tem lugar numa sucesso de eventos, conexos
ou desconexos, contnuos ou descontnuos, envolvendo dinmicas multi-
interativas entre diversos atores. As intensidade, densidade e conseqncia
destas dinmicas impem a tempestividade do agir policial e explicam o
carter limitado, provisrio, de suas solues. Isso torna impossvel pr-
determinar a ao policial em cada situao, exigindo o uso discricionrio
dos poderes do mandato. Afinal, os elementos singulares presentes em
uma situao particular podem constituir o relevo mais importante na
soluo policial. E impossvel conhec-los at que se revelem de maneira
concreta, imediata, presente numa situao.
A discricionariedade da polcia revela-se, ento, bem mais ampla.
Vai alm das alternativas coercitivas, modos de uso de fora, e atravessa
integralmente a ao policial. Reporta-se no apenas s oportunidade e
propriedade do uso de fora, mas alcana toda e qualquer atividade policial.
Com o benefcio destas consideraes, percebe-se como o exerccio do
mandato policial uma materialidade da governana, correspondendo
tomada de deciso poltica na esquina (streetcorner politics)
10
. Sem
embargo, o poder discricionrio ganha em complexidade e latitude quanto
mais o agente policial esteja envolvido com as tarefas de policiamento, as
quais esto, por sua visibilidade, mais expostas apreciao e ao controle
sociais, isto , mais expostas demandas por accountability.
Pode-se di zer que a di scri ci onari edade pol i ci al ecoa as
discricionariedades sadas da polity, e isso de tal maneira que o contedo
do que seja a ao policial no redutvel a um roteiro pr-determinado,
nem mesmo rigidez de princpios normativos. Ao contrrio, o contedo
da ao policial determinado diante do contexto de cada situao
particular, considerando as direes emanadas da polity quanto
oportunidade e propriedade de um determinado curso de ao. A
deciso sobre uma e outra pertence inescapavelmente ao policial
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
4 3
individual, que depende de seu poder discricionrio para poder realizar
o seu trabalho.
Por conta disso, a ao policial est sujeita apreciao poltica,
social, legal ou administrativa apenas a posteriori, atravs de accountability.
diante deste entendimento que se pode compreender como a iniciativa
da ao policial resulta de uma avaliao ad hoc pelo agente policial. Esta
avaliao est tambm sujeita a diretrizes amplas quanto a sua oportunidade
e iniciativa, quanto a sua prioridade e contedo, emanadas da organizao
policial ou apreendidas num determinado contexto. V-se aqui como a
legalidade da ao policial no resulta de uma abordagem mecnica e auto-
referida da lei, e como a sua legitimidade no se constitui pela reproduo
cega das exigncias da polity, mesmo que expressas em requerimentos
ou manuais
11
. Resultam de interpretaes, de um processo de ajustes e
adequaes aos termos concretos do mandato policial, conduzido em
ato pelo agente policial durante sua ao.
3.3 Os Termos do Mandato Policial
As instncias e dinmicas de discricionariedade permitem
compreender como o mandato policial, potencialmente amplo e to
pervasivo, reduz-se a termos concretos mais limitados e restritos. por
isso que s til avanar rumo instrumentalidade da accountability luz
da qualificao do mbito, alcance e contornos do mandato policial. Estes
ltimos traduzem os distintos limites e cautelas que tornam real um
determinado mandato policial, numa determinada comunidade poltica.
3.3.1. mbito
O mbito reporta-se ao objeto sobre o qual incidem os poderes
delegados do mandato policial. O mbito do mandato policial a prpria
polity, decantada pelos mais diversos recortes empricos. Um recorte
freqente o que desdobra o mbito do mandato policial em termos
geogrficos. Assim o mbito pode abranger todo o territrio de uma
comunidade poltica, ou reparti-lo. Estes recortes podem aproveitar
divises geogrficas pr-existentes, como bairros, zonas, cidades, reas
metropolitanas, provncias, estados ou grandes regies de um pas. Pode
ainda restringir-se a lugares especficos mais, ou menos, restritos, contnuos
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
4 4
ou descontnuos, como as vias ou parques pblicos; um porto ou um
shopping center; os quartis militares, os presdios, as agncias postais ou
bancrias; a vizinhana das escolas, ou o fluxo e as margens de um rio.
Um outro recorte comum o que desdobra o mbito do mandato
policial em termos de eventos. O mbito do mandato policial pode abarcar
conjuntos de eventos sob rubricas amplas como Segurana Pblica,
Ordem Pblica, Law Enforcement, Securit Interieur. Pode restringir-
se a certos eventos ou classes de eventos, refletindo autorizaes
especficas para atuar diante de um ou outro tipo de crime, um ou outro
tipo de violncia, um ou outro tipo de situao ou perturbao. Assim,
pode-se ter mbitos que circunscrevem um determinado mandato policial
ao homicdio ou ao trfico de drogas; ao terrorismo ou s violncias
domstica, de gnero ou intra-familiar; s partidas de futebol ou passeatas
polticas; escolta de autoridades ou ocasio de eleies; ao cybercrime
ou falsificao de documentos.
Outro recorte o que desdobra o mbito do mandato policial pela
ateno especial a determinados grupos de pessoas. O mbito do mandato
policial pode estar delimitado a segmentos da populao, como os
contribuintes ou uma comunidade indgena; os parlamentares, os militares
ou os policiais.
Os diversos mbitos dos mandatos policiais estabelecidos por, e
numa, polity se sobrepem, combinam, interpenetram, produzindo uma
variedade de arranjos policiais que co-existem de forma mais ou menos
atritiva ou cooperativa. Assim, numa mesma polity, a investigao de
homicdios pode pertencer, simultaneamente, ao mbito de distintos
mandatos policiais com recortes territoriais local e provincial. Qualificam,
ainda, as diferenas de mbito dos vrios mandatos policiais numa mesma
polity ou entre distintas polities. Assim, numa dada polity, a circulao de
determinadas mercadorias, como armas, lcool e tabaco, corresponde
ao mbito de um determinado mandato policial especfico, e noutras o
fluxo destas mercadorias no so objeto de um mbito distintivo.
3.3.2. Alcance
O alcance distingue competncia e precedncia de quem exerce os
poderes delegados numa dada polity. O alcance do mandato policial
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
4 5
esclarece sobre a exclusividade, concorrncia, sobreposio ou
compartilhamento de um mesmo mandato ou de mandatos distintos que
tm mbitos sobrepostos ou coincidentes dentro de uma mesma polcia
ou entre distintas polcias.
O alcance permite distribuir a execuo do mandato policial entre
os diversos policiais de uma mesma polcia. Para lidar com homicdios, h
polcias em que a investigao pertence exclusivamente a um departamento
especializado em homicdios; h outras em que a investigao do homicdio
de certos tipos de vtima pertence a um departamento voltado para
pessoas mais expostas a riscos; h ainda polcias em que esta investigao
fica a cargo da equipe de policiais que chegou primeiro na cena do crime.
H polcias em que a investigao de um homicdio por um
departamento especializado obedece precedncia do mais snior, que
escolhe seus casos; h outras em que o primeiro policial a lidar com o
caso conduz a investigao at o seu final; h outras em que se realiza uma
avaliao sobre qual seria o melhor policial para lidar com um caso
especfico; h outras ainda em que vrios policiais entram e saem de um
mesmo caso que permanece sendo coordenado por quem tenha
comeado a investigao.
Para lidar com situaes de alto risco, h polcias que renem os
policiais convencionais em unidades tticas provisrias, que se dissolvem
aps sua ao; h outras que dispem de unidades de operaes especiais
permanentes; h outras ainda que mantm capacidades tticas, mdicas,
de negociao e apoio psicolgico em unidades especializadas para o
atendimento geral de emergncias.
O alcance do mandato policial possibilita, tambm, balizar as linhas
divisrias entre diferentes polcias, que possuem, ou podem possuir
mbitos coincidentes. Orienta, por sua vez, arranjos entre organizaes
policiais que permitem determinar qual polcia deve agir quando h conflitos
de competncia entre elas.
A administrao do trnsito urbano sobrepe as competncias de
uma Polcia Municipal com as de uma Polcia Estadual. Diante de um acidente
trnsito com morte, pode haver conflito sobre quem competente para
cuidar dessa situao. Se est previamente estabelecido que o mbito da
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
4 6
Polcia Municipal no cobre acidentes fatais, ento no h necessidade de
discusso de alcance. Cada Polcia cuida de sua parte: a Municipal faz isso
e aquilo, a Estadual aquilo outro. Mas se tanto uma quanto a outra podem
lidar com o problema, tem-se alguma acomodao, e esta uma questo
de alcances. H arranjos entre as polcias em que a primeira a se fazer
presente no local quem assume; h arranjos em que as polcias se
alternam, ora uma, ora outra na conduo do problema; h arranjos em
que se convenciona que a precedncia entre as polcias decorre de
determinados fatores presentes nas circunstncias do acidente que o fazem
atribuio de uma ou da outra.
A circulao de mercadorias atravs de fronteiras sobrepe as
competncias de uma Polcia Municipal com as de uma Polcia Estadual e,
ainda, com as de uma Polcia Federal. Diante da apreenso de uma
mercadoria contrabandeada na feira pela polcia municipal, pode haver
divergncias sobre qual polcia dar continuidade ao caso. A discusso de
alcance pode permitir uma acomodao que oriente as competncias
policiais em conflito, em funo da origem domstica ou estrangeira da
mercadoria, do tipo ou valor da mercadoria apreendida, ou ainda da
suspeita ou no do envolvimento de organizaes criminosas.
A administrao penitenciria pode levar sobreposio de
competncias de uma polcia penitenciria e uma polcia estadual diante
de uma rebelio de presos com refns. A discusso de alcance pode
permitir uma acomodao das competncias em conflito em funo da
extenso, durao, gravidade ou repercusso da rebelio, deslocando a
precedncia de uma polcia para a outra.
3.3.3. Contornos
Os contornos determinam como se pode, ou deve exercer os
poderes delegados numa dada polity. Os contornos de cada mandato
policial indicam exigncias e predilees da polity, estabelecendo
alternativas desejveis ou tolerveis para a ao policial. Estabelecem,
portanto, os limites contextuais do que uma polcia est autorizada diante
da delimitao de seus alcance e mbito de atuao. So precisamente os
contornos do mandato policial que buscam atender s exigncias e
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
4 7
predilees da polity, identificando o que estaria aqum ou alm da inteno
da procurao concedida. Por esta razo, os contornos do mandato policial
qualificam o contedo, os modos e meios do agir e fazer policial de
cada polcia e de suas subdivises.
Expressam o universo de valores culturais e expectativas sociais de
uma polity sobre o mandato policial, estabelecendo diversas instncias de
instrumentalidade que buscam aproximar o exerccio do mandato destes
valores e expectativas. Os contornos do mandato policial retratam de
maneira sensvel as interaes entre a sociedade e seu governo, buscando
dar conta da pluralidade de convices, interesses e opinies. Refletem,
portanto, um processo continuado de aproximaes, um ir e vir, que se
apresenta na forma de prioridades polticas, expedientes legais e
normativos, diretrizes organizacionais ou administrativas, doutrinas ou
mtodos de ao, demandas locais, comunais ou minoritrias, clamores,
vivncias e proposies nascidos das experincias e experimentos diante
das circunstncias da vida real.
na apreciao dos contornos que se revela a centralidade, a
onipresena e a constante interferncia das instncias de discricionariedade
na e como prxis do mandato policial. As escolhas e tomadas de deciso
que traduzem as representaes e percepes da sociedade, seu governo
e sua polcia so o que configura o contedo vigente dos contornos de
uma determinada organizao policial num determinado contexto, num
determinado momento do tempo. So nos contornos que se expressam
as mudanas mais freqentes e substantivas no exerccio do mandato
policial. Os contornos constituem a expresso mais dinmica, mais
vigorosa, do processo de transformao histrica das polcias, uma vez
que buscam fazer dialogar o geral com o particular, o formal com o informal,
o estrutural com o conjuntural, o que tem a ambio de ser permanente
com o contingente.
Este carter processual e dinmico dos contornos uma
caracterstica distintiva do mandato policial. Em cada momento, o que
sejam os contornos corresponde a uma sntese que busca traduzir as
mltiplas instncias discricionais expressas na concesso do mandato
policial pela polity, na execuo dos termos deste mandato por uma polcia,
e na produo e usos da accountability policial para o aperfeioamento do
mandato e de seus termos. O que se espera que a polcia seja ou deva ser,
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
4 8
faa ou deva fazer luz da finalidade de seu mandato compreende
expectativas e contedos de contornos, os quais invadem e (re)configuram
os demais termos do mandato, mbito e alcances, orientando, embasando
ou contestando alternativas de ao policial.
A apreciao dos contornos dos mandatos policiais permite
comparar os arranjos policiais de uma polity ou de polities distintas. O
uso de algemas revela como pode haver diferenas substanciais no
propsito e na prioridade de uso de um nico instrumento em funo de
diferentes contornos. H polcias que esto orientadas a usar algemas
diante de qualquer resistncia, mesmo a verbal, com o propsito de
preservar a incolumidade fsica dos envolvidos e evitar qualquer uso
adicional de fora pelo policial; h polcias em que as algemas so usadas
principalmente para isolar os envolvidos numa dinmica conflituosa; h
polcias em que as algemas s so usadas para consubstanciar o ato da
priso e para conduzir presos. H, ainda, polcias cujas polities toleram
que as algemas sejam utilizadas para expor presos humilhao pblica
de serem vistos algemados.
Os contornos atualizam os mbitos e alcances dos diversos
mandatos policiais concretos de uma dada polity. Isso faz com que se
possa apreciar os possveis conflitos entre polcias com mbitos
coincidentes ou dentro de uma mesma polcia com alcances sobrepostos.
Pode ser pertinente para uma polity manter polcias autorizadas a agir no
mesmo territrio para impedir monoplios policiais que vulnerabilizem a
governabilidade. Pode ser pertinente para uma polcia que a apurao de
desvios de conduta de seus integrantes possa ser feita de forma redundante
por mais de um departamento para impedir corporativismos. Pode ser
pertinente para uma polcia fazer concorrer alcances de coleta de
evidncias entre os departamentos de cincia forense, investigao e
patrulha, de maneira a poder alocar os mais especializados para os casos
mais difceis ou sensveis ou mesmo para aprimorar a sua capacidade de
pronta resposta.
Os contornos admitem diferenciao nos modos e meios de
agir ou fazer policiais, que aproximam o que se deseja de uma
determinada polcia numa dada polity, beneficiando-se de diferentes
instncias de instrumentalidade.
A preservao, sustentao e garantia dos direitos humanos adquire
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
4 9
materialidades distintivas no exerccio de diferentes mandatos policiais.
H polcias em que os procedimentos de abordagem policial correspondem
ao esforo deliberado de evitar questionamentos quanto a possveis
contedos discriminatrios ou excludentes em suas prticas. Para tanto,
aprimoram suas tcnicas de maneira a serem capazes de afirmar, em sua
ao, o respeito s diferenas de raa, credo, gnero, idade, orientao
sexual, condio scio-econmica, nacionalidade ou naturalidade.
O acesso a bebidas alcolicas objeto de diferentes enquadramentos
sociais e legais. Onde vige a lei seca, a polcia deve impedir qualquer
consumo de tais bebidas em qualquer lugar por qualquer pessoa; onde a
lei seca um dispositivo limitado no tempo, no espao, ou ao requisito de
uma determinada idade legal, so estes os contornos da ao policial.
A discusso sobre a letalidade dos armamentos policiais tem levado
a diversos experimentos sobre os contornos adequados para o uso de
armas no letais. O caso do Tazer ilustrativo da maneira pela qual os
contornos podem variar diante de experincias e experimentos. O Tazer
atende demanda por uma arma que produzisse incapacitao no letal, e
se pensava em adot-lo como o principal o armamento policial. Mas
constatou-se que o Tazer, apesar de no ser letal para a maioria das pessoas,
podia ser letal, e mais letal que a arma de fogo, quando utilizado contra
pessoas de pequena massa corporal, cardacas ou com propenso fatal a
choques eltricos. Isso possibilitou uma reavaliao quanto pertinncia
e efetividade do Tazer como arma policial de uso geral.
H grande variedade nos contornos do contrato de trabalho que
vincula ou investe o profissional de polcia. H polities que probem que o
agente policial possa ter outro emprego; ou que possa ter outra atividade
profissional na vigilncia ou segurana privadas. H polities em que esta
proibio no existe, ou em que, ao contrrio, a prpria organizao policial
est autorizada a administrar, e se espera que ela administre, a contratao
de policiais para vigilncia e segurana privadas, usando, ou no, seus
uniformes e insgnias.
Finalmente, existe uma ampla variedade de prticas sobre o que
sejam os requisitos, o tempo, o contedo e as formas de aferio de
aprendizado que fazem de um cidado um policial. H polcias em que o
processo formativo exclusivamente on-the-job; h outras em que
corresponde a um treinamento de maior ou menor durao; h outras
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
5 0
em que um curso de formao ou especializao ps-secundrio; e h
outros em que para ser policial preciso ter passado por uma formao
universitria, geral ou at especfica.
A contrapartida delegao aos policiais de poderes superiores
aos de uma pessoa comum, em especial o recurso coero pelo uso de
fora, a apreciao cotidiana dos atores sociais que compem a polity e
sua governana diante de cada fazer policial. Estes atores reiteram, ou
no, sua confiana na polcia. Como resultado desta apreciao, confere-
se, ou no, legitimidade, empresta-se, ou no, credibilidade s polcias,
afirmando ou modificando os contornos vigentes de um mandato policial.
Neste sentido, cada sociedade tem a polcia que merece ou a polcia
que faz por merecer, como se diz em crculos policiais. Apesar de ser
tomada como um lugar comum, esta frase corresponde a um
entendimento profundo do que , do que deva ser, a polcia. A melhor
polcia a que vivifica cotidianamente os contornos de seu mandato, para
corresponder, para aproximar, o que que a polity deseja que seja feito
em cada situao, em cada ao. No pode ser diferente. O objeto da
polcia a prpria polity, que exercita a sua discricionariedade de
outorgante do mandato para demandar as formas, modos e meios que
deseja na ao de sua polcia.
3.4 Uma Dimenso Instrumental de Accountability Policial
A accountability policial expressa as instncias de discricionariedade
de uma determinada polity, sobre o que se deseja saber do exerccio de
um mandato policial, por uma determinada polcia, apreciando as escolhas,
resultados e conseqncias de sua ao num determinado momento. Assim,
no possvel imaginar que um modelo universal de accountability policial
possa atender todas as polities e todos os mandatos de forma uniforme,
homognea e satisfatria. um erro que se pense a accountability policial
como uma aplicao mecnica e cega de uma frmula que teria dado certo
em algum lugar, em algum momento. A accountability policial no existe
em si mesma, emancipada do contexto que decide sobre sua produo e
seus usos. Uma certa accountability policial est associada a uma certa
polcia, ao exerccio de um certo mandato policial, numa certa polity que
define os termos do seu mbito, alcance e contornos.
O que se pode ter em comum na accountability policial de diversas
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
5 1
polcias, ou de diversas polities, o seu processo, o modo mesmo de sua
produo. Toda accountability seletiva, e resulta da busca pela resposta
a um questionamento a partir de um determinado account, circunscrita
pelos termos concretos do mandato policial. Pode-se aprender com a
experincia, o sucesso ou o fracasso de outros que tiveram que produzir
accountability policial. H o que extrair da forma pela qual se deram conta
de problemas, ou requisitos, ou limitaes, semelhantes s que se deseja
tratar. Em termos mais amplos, nada mais til para educar o esprito e a
mente de quem considere as questes policiais, no caso a accountability
policial, do que o estudo dos diversos casos e trajetos com o benefcio da
reflexo e da teoria. Um destes aprendizados o valor de rotinas e
mecanismos que emprestam institucionalidade, sistematicidade, feitura
de account e produo de accountability. Isso responde natureza dos
questionamentos e respostas articulados pela accountability policial, mas
no responde diretamente a seus contedos particulares, que seguem
sendo singulares de uma realidade especfica.
Muito da accountability policial trata daquilo que as organizaes
policiais tm em comum com outras agncias pblicas, como os Correios,
ou com outras organizaes de servios, como as escolas, ou com rotina
diuturna de trabalho, como hospitais, ou mesmo simplesmente com
organizaes que empregam um efetivo de tamanho comparvel: desde
a pequena loja comparada a um departamento policial municipal de uma
dezena de pessoas at as grandes empresas comparadas a departamentos
ou foras policias metropolitanas de dezenas de milhares de pessoas.
Demanda-se, basicamente, accountability sobre a administrao: o uso
dos recursos do oramento, as polticas de recursos humanos, a
regularidade e qualidade do atendimento a clientes, os processos de
definio de normas, controle de qualidade, aquisio de bens de capital e
custeio, gerncias dos processos de todo tipo. H elementos
especificamente policiais em cada um destes elementos, porque cada um
deles se reveste de contedos distintivos em funo dos termos concretos
do mandato de uma polcia.
A isso se soma, ainda, as demandas que produzem accountability
pelas aes policiais no exerccio do seu mandato no sentido estrito. O
questionamento quanto ao uso autorizado da coero com o respaldo da
fora, freqentemente expresso nas suspeitas de violncias, violaes ou
corrupo nas atividades policiais, inaugura a produo de accountabilities
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
5 2
que servem como insumos, exemplos ou pontos de partida para a criao
de diversas rotinas dentro e fora das organizaes policiais. Pode instituir
a elaborao e publicao de relatrios sobre atendimentos policiais, sobre
o uso de armas de fogo por policiais, sobre desvios de conduta, sua
apurao e o desempenho da corregedoria. Pode instituir organizaes
ou recursos que passam, por exemplo, a produzir anurios estatsticos
sobre as incidncias criminais; dossis quantitativos ou qualitativos sobre
a vitimizao de cidados e policiais por policiais; indicadores do
desempenho policial. Ou mesmo levar a organismos fora da polcia, como
ouvidorias (ombudsman), esforos como o Crime Stoppers e suas diversas
adaptaes, agncias civis de certificao policial, observatrios em
organizaes no-governamentais ou ainda linhas de pesquisa nas
universidades. Tudo isso acrescenta demandas polcia.
Como qualquer outra organizao, a polcia se ressente de qualquer
demanda direta ou indireta que no seja a reproduo de seus hbitos ou
atividades regulares. Tende a perceber cada uma delas como desvios de
funo que iro subtrair pessoal, recursos e tempo (e, em termos estritos,
at corretamente) de suas atividades. Tende, ainda, a v-las como
desperdcio ou disperso sem outro mrito seno o de acomodar presses
externas. Claro que sempre mais forte, retoricamente, afirmar que essa
subtrao comprometer as atividades-fim mais valoradas ou sensveis
do ponto de vista de quem fez a demanda: a preveno e reduo da
criminalidade violenta, por exemplo.
Contudo, essa uma percepo mope. a partir dos acervos e
experincias destas atividades que se pode avanar na construo de
accountabilities mais e mais capazes de orientar o aprimoramento do
exerccio do mandato policial. Neste sentido, o argumento de que a
produo de accountability e sua institucionalizao desperdiam recursos
policiais falsa. Podem ser mesmo investimentos, que orientam as formas
capazes de multiplicar, aperfeioar, ampliar, os efeitos da ao policial.
Dentre os diversos recortes possveis, a ao policial destaca-se.
Trata-se de um recorte essencial para a produo de accountability por
remeter atividade-fim das organizaes policiais. Considerar a ao
policial como uma categoria de anlise significa buscar as alternativas
possveis de suas escolhas, resultados e conseqncias a partir de um
determinado ponto de vista. A instrumentalidade da accountability policial,
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
5 3
ela mesma corresponde perspectiva que retorna a esta relao para
apreciar causas a partir de efeitos, isto , a partir de resultados e
conseqncias, identificar as escolhas que os explicariam, rumo
identificao de cursos de responsabilizao.
Isso permite um exemplo instrumental de accountability policial
descrito em quatro passagens. A primeira estabelece como, sob que
critrios, era oportuno agir, dando conta da deciso de agir, ou no;
sob que critrios agiu-se apropriadamente, dando conta da forma como
se agiu. A segunda passagem exercita estes critrios em termos da
combinao lgica de aes oportunas e inoportunas com aes
apropriadas e inapropriadas. A terceira passagem identifica rvores
de responsabilidade associadas possibilidade de identificar causas para
efeitos, problematizando o uso de algum account para produzir
accountabilities. A quarta passagem considera o que no se pode extrair
do exerccio dos critrios de oportunidade e propriedade da ao
policial.
Ainda que qualquer ao policial seja, a um s tempo, oportuna
ou no; apropriada ou no; til distinguir estas duas dimenses para
propsitos analticos. Por oportunidade se entende a escolha policial
de agir, ou no, diante de uma determinada situao. No agir, no
intervir na situao, uma alternativa possvel e, assim quando se considera
a oportunidade da ao, isto inclui a deciso de no fazer nada. Por
propriedade se entende a escolha policial da forma de agir entre
diversas alternativas possveis. Neste sentido, uma ao s
apropriada, ou no, diante da deciso de agir, mas mesmo a deciso de
no fazer nada admite a considerao da forma apropriada de no se fazer
nada. Com isso, tem-se claro que oportunidade e propriedade de
uma ao policial so dimenses distintas que se complementam.
Nenhuma ao policial oportuna ou apropriada em si mesma,
mas apenas diante dos termos concretos de seu mandato. Sem dvida
que os mandatos policiais das mais diversas polities podem compartilhar
diversos elementos de mbito, alcance e contornos similares. Assim,
possvel, mesmo esperado, que haja aes policiais que seriam vistas como
oportunas ou inoportunas, ou apropriadas ou inapropriadas, por
um grande nmero de pessoas ou policiais das mais diferentes polities.
Ainda assim, em termos rigorosos, o que seja uma ao policial oportuna,
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
5 4
ou uma ao policial apropriada de uma dada polcia para fins de
accountability no necessitam ficar refns da esperana destas semelhanas.
Estas consideraes emergem e so estabelecidas num determinado
contexto, numa determinada comunidade poltica, por uma polcia
especfica luz dos termos concretos de seu mandato vigente. Os termos
concretos do mandato policial, neste sentido preciso e especfico,
dependem da maneira pela qual mbito, alcances e contornos so
configurados. Como os termos de um mandato policial so previamente
estabelecidos por qualquer polity para qualquer uma de suas polcias, pode-
se falar de oportunidade e propriedade da ao policial como categorias
gerais e aplicveis a qualquer polcia especfica.
Para os propsitos deste exerccio, os termos do mandato policial
se encontram expressos, subentendidos, nas categorias oportunidade
e propriedade. Essas categorias embutem a autorizao do mandato
policial pela polity. O consentimento social para produzir alternativas de
obedincia com respaldo da fora sob o imprio da lei pode ser
referenciado em trs ordens de considerao que se interpenetram, se
confirmam, se modificam, se contradizem: as exigncias de natureza
poltica, do governo, expressas em termos de diretrizes e prioridades; as
exigncias de natureza social, da coletividade, expressas em termos de
demandas das comunidades policiadas ou de grupos sociais; e as exigncias
de natureza legal, expressas na legislao e normas que refletem uma dada
pactuao social num determinado momento do tempo. As duas primeiras
exigncias reportam-se caracterizao da legitimidade da ao policial e
os processos de legitimao; a terceira remete de maneira mais aparente
caracterizao da legalidade da ao policial. Assim, pode-se tomar a
oportunidade de uma ao policial e a propriedade de uma ao policial
como juzos que se orientam a partir das exigncias de legitimidade e
legalidade de uma dada polity.
Ao se considerar as alternativas lgicas que combinam as categorias
oportunidade e propriedade, realiza-se um experimento mental, em
que se imagina considerar uma determinada ao policial (agir ou no agir,
como agiu) ocorrida no passado, e que corresponde ao descritivo de uma
destas alternativas lgicas de combinao. Isso significa que o que se realiza
aqui um exerccio qualitativo, que busca apresentar apenas as quatro
possibilidades presentes na figura a seguir como smbolos de quatro
caracterizaes possveis de uma ao policial a ser objeto de accountability.
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
5 5
Figura 2. Oportunidade e Propriedade da Ao Policial.
1. Ao policial oportuna e apropriada. Corresponde a uma
ao em que i) a escolha do policial (de intervir, ou no) compatvel com
os termos do seu mandato e ii) a forma de ao do policial compatvel
com os contornos do seu mandato. Esta caracterizao d conta de todas
as situaes em que o policial agiu quando devia agir e da forma como devia
agir. Neste caso, tem-se iniciativa e ttica policiais adequadas.
2. Ao policial inoportuna e inapropriada. Corresponde a uma
ao em que i) a escolha do policial (de intervir, ou no) incompatvel
com os termos do seu mandato e ii) a forma de ao do policial
incompatvel com os contornos do seu mandato. Esta caracterizao d
conta de todas as situaes em que o policial agiu quando no devia agir e
de uma forma inaceitvel. Neste caso, tem-se iniciativa e ttica policiais
inadequadas.
3. Ao policial oportuna e inapropriada. Corresponde a uma
ao em que i) a escolha do policial (de intervir, ou no) compatvel com
os termos do seu mandato mas ii) a forma de ao do policial incompatvel
com os contornos do seu mandato. Esta caracterizao d conta de todas
as situaes em que o policial agiu quando devia agir, mas de uma forma
inaceitvel. Neste caso, tem-se uma iniciativa policial adequada e uma ttica
policial inadequada.
4. Ao policial inoportuna e apropriada. Corresponde a uma
ao em que i) a escolha do policial (de intervir, ou no) incompatvel
com os termos do seu mandato mas; ii) a forma de ao do policial
compatvel com os contornos do seu mandato. Esta caracterizao d
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
5 6
conta de todas as situaes em que o policial agiu quando no devia agir,
mas da forma como devia agir. Neste caso, tem-se uma iniciativa policial
inadequada e uma ttica policial adequada.
O enquadramento de uma determinada ao policial numa destas
caracterizaes o primeiro passo do processo de accountability. o
que permite fazer dialogar os termos do mandato concreto com
determinadas escolhas que foram feitas numa determinada ao policial,
numa determinada situao real. Isso compreende uma anlise que se
inaugura pelo contraste entre a deciso tomada nesta ao policial e outras
decises tomadas em outras aes de acordo com o que esta polcia
orienta a tomada de deciso. No caso deste exerccio, em termos de
oportunidade e propriedade. Assim, em termos de oportunidade da
iniciativa policial, da deciso de agir ou no, aprecia-se a situao e se
afere se a deciso tomada foi, ou no, compatvel com o que o estado
das prticas ou com as diretrizes da organizao policial. Em termos de
propriedade da ao policial, da forma como se agiu, aprecia-se se esta
forma de agir foi ou no compatvel com o estado das prticas, os
procedimentos, com as diretrizes da organizao policial.
Isso significa que pode existir latitude tanto numa quanto noutra
deciso. Para uma polcia, pode haver situaes diante das quais tanto a
iniciativa de agir quanto a de no agir so igualmente oportunas. Para uma
polcia, pode haver uma diversidade de alternativas de conduo, de tticas
policiais. Estas podem ter diversos enquadramentos, sendo mais ou menos
hierarquizadas como formas de agir aceitveis, recomendveis,
obrigatrias. Em termos de formas de agir, o que apropriado expressa
um determinado estado da arte da ttica policial, conformada pelos
contornos do mandato policial concreto de uma polcia, numa determinada
polity, num determinado momento do tempo.
Cada uma destas caracterizaes supe que uma ao policial j teve
lugar, j produziu resultados e se conhece suas conseqncias, e que esta
ao foi objeto de questionamento, fazendo-se necessrio produzir
accountability sobre ela, do ponto de vista de oportunidade e propriedade.
Isso significa, ainda, que previamente a seu enquadramento nestas
categorizaes, existe um determinado juzo, mais ou menos impressionista,
mais ou menos tcito, mais ou menos fundamentado, sobre se essa ao
deu certo ou deu errado, se ela foi mais um sucesso ou um fracasso.
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
5 7
Este juzo de sucesso ou fracasso decorre da leitura que os
integrantes da polity fazem da ao, luz de suas representaes,
expectativas, sobre o mandato de uma polcia, alimentando percepes e
opinies construdas a partir das informaes a que cada um teve acesso.
Por essa razo, ter agido com oportunidade e propriedade no
necessariamente conduz ao juzo de que a ao policial foi um sucesso;
ter agido inoportunamente e inapropriadamente no necessariamente
conduz ao juzo de que a ao policial foi um fracasso.
Diante da caracterizao de uma determinada ao policial em
termos de oportunidade e propriedade, d-se seguimento ao processo
de accountability pelo delineamento de rvores de responsabilidades, isto
, das causas possveis dos efeitos encontrados. Trata-se de escolher ramos
de causas atravs de ponderaes regressivas, que recuam do momento
em que a ao produziu seus resultados e conseqncias, para explicar e
responsabilizar porque ela foi (in)oportuna e (in)apropriada. Neste
processo, no h limites lgicos o quo para trs se pode chegar. O limite
dessa regresso a identificao de causas demonstrveis, partindo
daqueles efeitos tomados como relevantes pelo desejo de uma determinada
accountability.
Esse percurso admite aberturas e fechamentos de linhas de
responsabilidade em virtude dos resultados da prpria accountability, que
afere a relevncia de uma certa linha de responsabilidade para explicar os
efeitos evidenciados numa ao policial. Exercita-se discricionariedades,
pratica-se seletividade na escolha das rvores de responsabilidade, sobre
as quais se busca identificar cursos consistentes de responsabilizao.
Novamente, no h limites lgicos a este processo de abertura ou
fechamento, nem qualquer critrio prprio, imanente, pelo qual se possa
dar rumo a accountability. Ela inteiramente dependente da combinao
das instncias de discricionariedade que articulam questionamentos, a busca
de respostas, a relevncia das respostas e a satisfao ou no com tais
respostas.
Ainda que se possam acrescentar outras instncias e espaos no
processo de accountability, o ponto de partida necessrio para a sua
realizao a considerao da materialidade da polcia. Ordinariamente,
isto remete apreciao dos recursos policiais que estavam disponveis
para e na ao sob anlise. Isso por si mesmo j exige o desdobramento
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
5 8
de quais recursos poderiam estar disponveis, se eles poderiam ser mais
adequados e tudo o mais. Essa no uma violao da lgica da accountability
ao inquirir sobre alternativas, ao contrrio: o rumo de poder produzir
de maneira precisa as respostas s perguntas: quais eram os recursos
disponveis para essa ao? Por que estes e no outros recursos foram os
disponveis? Quo adequados foram estes recursos para a ao policial?
Como eles influenciaram ou no as escolhas da iniciativa e da ttica policial?
Assim, o espao natural para o desenho de rvores de
responsabilidade a materialidade da combinao dos recursos policiais.
Faz-se polcia com a polcia que se tem, seja em funo dos recursos
disponveis para uma polcia, seja em funo daquela frao singular de
recursos disponveis para a ao da qual se deseja accountability. Faz-se
accountability do que a polcia fez diante do que ela devia ter feito,
considerando o que ela, de fato, podia fazer. Novamente, faz-se
accountability do que a polcia fez, das escolhas de oportunidade e
propriedade da ao policial; diante do que ela devia ter feito, diante dos
termos concretos do mandato; considerando o que ela, de fato, podia
fazer, isto , a disponibilidade de recursos na e para a ao. Isso tem lugar
atravs do mapeamento dos fluxos decisrios que produziram uma dada
disponibilidade de recursos e no outra.
Pode haver, de fato, tantas maneiras de descrever os recursos
policiais quanto as polcias. Isso no empecilho para que se possa
compartilhar uma determinada viso sobre como descrev-los. Como
os recursos policiais so multidimensionais e variados, til agrup-los
em conjuntos de recursos agregados pela sua afinidade desde o ponto de
vista do delineamento de causas a partir de efeitos na accountability da
ao policial. Neste sentido, seria possvel descrever os conjuntos de
recursos como sendo agrupamentos orientados a problemas.
Os conjuntos de recursos no so nem equivalentes nem
homogneos em uma determinada organizao policial. Eles so
descontnuos no que se refere sua distribuio e uso no tempo e no
espao. Isto significa dizer que em uma mesma polcia podem co-existir
diferentes disponibilidades e distintas qualidades de uso de cada conjunto
de recursos. possvel que todos os agentes policiais tenham uma arma
de fogo, mas nem todos estejam capacitados ou tenham competncia
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
5 9
policial no seu uso. Estes conjuntos correspondem a:
i) Suporte e articulao organizacionais, que compreendem o
que a organizao policial pode prover a indivduos ou equipes policiais
em termos de seu mtuo apoio, incluindo a a distribuio do efetivo
policial no espao e no tempo, a capacidade de reforo ou acesso a recursos
especializados, etc.
ii) Equipamentos e materiais, que compreendem amplamente
a logstica de uma organizao policial em termos materiais, incluindo desde
o fardamento, armamento e munio at o suprimento de ataduras no kit
de primeiros socorros, passando pelos instrumentos de comunicao,
de proteo pessoal, ou o talonrio de multas.
iii) Acervo de procedimentos, que compreende o conjunto de
condutas de ao, que inclui a aplicao dos contornos em diversas
circunstncias particulares, e espelha o conhecimento e os saberes policiais,
enfim, o estado das prticas partilhado pelos policiais, construdo pela
experincia coletiva no planejamento e execuo da ao policial, na forma
de expedientes informais ou normas e procedimentos padro.
iv) Capacitao de indivduos e equipes, que compreende os
resultados dos processos educacionais, isto , a capacidade de fazer uso
concreto do que foi aprendido, seja em percursos de formao geral,
seja em percursos de formao especfica. Isto se expressa em diferentes
qualidades individuais, em diferentes habilidades para o empreendimento
de uma determinada tarefa policial.
v) Capacidade decisria, que compreende a qualidade decisria
de indivduos ou grupos policiais na realizao de diagnsticos e
prognsticos em tempo hbil diante de determinadas situaes, e de
decidir, implementar e supervisionar cursos de ao, usando os recursos
disponveis e comandando indivduos ou equipes policiais.
vi) Competncia policial, que compreende os diferentes perfis
de maior ou menor grau de especialidade ou experincia dos profissionais
de polcia envolvidos na ao diante das tarefas que a situao demanda.
A apreciao desses recursos para fins de accountability depende
de sua ponderao pelas condies reais de sade ocupacional dos
policiais. Isso se expressa, por exemplo, na apreciao da curva de fadiga
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
6 0
e estresse ao longo de um turno de trabalho ou ao longo da trajetria
individual de trabalho.
Imagine-se que a ao policial sobre a qual se deseja accountability
refira-se a um questionamento que suspeita que teria havido uso
excessivo da fora, e que a ao seria um exemplo de violncia policial.
A situao seria em que um assaltante foi alvejado pela polcia depois de
ter sido desarmado e rendido.
O primeiro passo considerar o enquadramento desta ao em
termos de uma das categorizaes indicadas. Considerou-se que a ao
policial foi oportuna, pois a iniciativa policial de agir para frustrar o
assalto foi compatvel com os termos do mandato desta polcia.
Considerou-se, ainda, que a forma da ao policial foi inapropriada,
pois ter atirado no suspeito depois de rendido era, de antemo,
incompatvel com os contornos do mandato desta polcia nesta situao.
Tratou-se de uma iniciativa policial entendida como adequada, porm
com uma ttica policial considerada inadequada.
O segundo passo delinear as rvores de responsabilidade
capazes de identificar as causas deste efeito indesejado, a vitimizao
do suspeito sob custdia. O que pode explicar este efeito? A busca
pelas causaes por sobre os recursos policiais disponveis pode
produzir diversas respostas que se complementam ou se excluem na
identificao de cursos de responsabilizao. Em termos amplos, pode-
se dizer que estas respostas poderiam apontar para incapacidades,
incompetncias ou erros. Cada uma delas poderia referenciar um
determinado desenlace do processo de accountability.
Identificou-se, por exemplo, uma incapacidade de equipamento:
a arma do policial disparou sozinha, aps o policial guard-la no seu
coldre, conforme o procedimento padro. A arma estava degradada e
sua trava de segurana no funcionou quando o policial imobilizava o
suspeito. Concluiu-se que isso sugere uma falha de manuteno ou at
de aquisio do armamento policial. Diante da importncia conferida a
esta incapacidade, pode-se institucionalizar accountability sobre a
aqui si o e manuteno do armamento pol i ci al . O curso de
responsabilizao incide sobre o policial, mas aponta na direo dos
que respondem pelo armamento da polcia.
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
6 1
Identificou-se, por exemplo, que o policial autor do disparo foi
incompetente: o disparo teria sido acidental, porque o tiro aconteceu
quando ele tentava travar sua arma. Conclui-se que isso sugere uma falha
na sua capacitao para o manuseio da arma, o que pode indicar a
necessidade de reviso do treinamento policial do uso da arma de fogo.
Diante da importncia conferida a esta incompetncia, pode-se
institucionalizar accountability sobre a formao policial. O curso de
responsabilizao incide sobre o policial, mas aponta na direo dos que
respondem pelo treinamento da polcia.
Identificou-se, por exemplo, que o policial autor do disparo errou
ao reagir com sua arma a uma agresso verbal de parte do suspeito.
Conclui-se que isso foi uma falha motivada pela inexperincia do policial
na administrao do uso da fora, reagindo desproporcionalmente
situao. Diante da importncia conferida a erros deste tipo, pode-se
institucionalizar accountabilities sobre o processo de recrutamento,
seleo e formao de policiais, a gesto das carreiras policiais e suas
trajetrias e o acervo de procedimentos no uso de fora. O curso de
responsabilizao incide sobre o policial, mas aponta na direo de vrios
outros que respondem por diversos aspectos da polcia.
Independentemente do seu propsito, no exemplo, a suspeita de
uso excessivo da fora ou violncia policial, a accountability produzida
para responder a este questionamento pode ter outros usos. Nos breves
exemplos imaginados acima, tem-se a compreenso de quais recursos
policiais estavam, de fato, disponveis numa determinada ao. Encaminha-
se a construo de um entendimento das causas desta disponibilidade.
Edifica-se um acervo de exploraes que pode servir organizao para
alm do estudo de caso que deu origem a uma determinada accountability.
A apreciao destas rvores de responsabilidades e suas causaes
tm ainda que considerar a possibilidade da interferncia de
externalidades, isto , de imponderveis que no derivaram de vontades
e escolhas policiais. No caso das situaes imaginadas, foi possvel distinguir
que eventos exteriores situao no foram relevantes para a identificao
de causas e, portanto, de cursos de responsabilizao.
H limites sobre o que se pode obter com a aplicao do
enquadramento da ao policial em categorizaes que combinam
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
6 2
oportunidade e propriedade. Este tipo de ferramenta de anlise no
pretende dar conta, por exemplo, das motivaes e intenes pessoais
ou grupais que levam os policiais a decidirem ou agirem de tal ou qual
maneira. Reflete, to somente, as escolhas realizadas em si mesmas e
aes empreendidas luz de sua adeso aos termos do mandato policial.
Assim, a inteno deliberada de policiais ou grupos de policiais de agirem
como justiceiros, matadores de bandidos, consiste numa violao
explcita do mandato policial. Isto demanda outros percursos de
accountability, complementares ao enquadramento da ao policial em
termos de oportunidade e propriedade. Isso porque estas perverses
do mandato policial podem ser invisveis a este enquadramento, podendo
ser camufladas, disfaradas, em aes oportunas e apropriadas pela
construo deliberada de falsas oportunidades e propriedades. Podem-
se constituir disfarces de aes policiais oportunas e/ou apropriadas pela
fabricao de falsos cenrios, falsificao ou ocultao provas, montagem
de locais de crime, e mesmo a produo de apreenses e prises. Tudo
isso para ocultar fracassos, ou inventar sucessos que acobertem a violao
do mandato policial e suas possveis licenciosidades.
O enquadramento da ao policial em categorizaes que combinam
oportunidade e propriedade tambm no tem como dar conta da
corrupo policial em toda a sua complexidade. A possibilidade de
corrupo perpassa todas as quatro alternativas lgicas de categorizaes
apreciadas, podendo se fazer presente antes, durante e depois de aes
policiais (in)oportunas e (in)apropriadas.
Esta caracterstica pervasiva da corrupo torna complexa e
desafiante sua apurao e controle. Aes policiais oportunas e apropriadas
podem ser motivadas, criadas, modificadas ou aproveitadas para atender
interesses particulares de policiais ou de outros. Isto significa dizer que
podem ocorrer modalidades ou prticas corruptas que no violem de
forma explcita o mandato policial, pois se colocam e se beneficiam de
lacunas, brechas e intervalos comuns e freqentes entre contornos, alcance
e mbito dos mandatos policiais concretos. Estas prticas podem ter lugar
nas intersees inescapveis e folgas necessrias entre o que se deseja de
um mandato policial e as formas concretas de seu atendimento, entre o
que pode e o que no pode ser feito. Por isso mesmo, estas tendem a ser
menos visveis e palpveis, mais enraizadas e longevas do que aquelas que
confrontam explicitamente o mandato policial.
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
6 3
A isto se soma um fator complicador que o contexto de uma
polity, que constri e admite distintos nveis de tolerncia ou aceitao
social. Em muitas comunidades, as fronteiras que distinguem o que se
costuma definir as atividades policiais como corruptas podem ser muito
fluidas, pouco ntidas. Elas podem ser favorecidas pelas, ou mesmo se
confundirem com, prticas culturalmente estabelecidas de trocas sociais,
com mecanismos informais de reciprocidade e gratuidade. Em suma,
podem ser inscritas nas dinmicas de prestaes e contraprestaes que
alimentam e vivificam elos entre distintos grupos sociais.
Viu-se, pois, a abrangncia e os limites da apreciao da ao policial
pelas consideraes de oportunidade e propriedade como uma ferramenta
para o exerccio de accountability policial. Esta ferramenta no cobre e
nem ambiciona cobrir indagaes sobre as possveis motivaes ou
intenes para a ao policial. Ela as toma como elementos de partida de
qualquer escolha ou juzo, embutidos nos resultados e conseqncias que
se presente avaliar. Restringe-se, portanto, e esta sua virtude, ao mrito
substantivo da oportunidade e propriedade da ao policial, orientando o
estabelecimento de cursos de responsabilizao que, mediante orientao
da polity, pode seguir rumo ao entendimento das motivaes ou intenes
as mais diversas.
4. CONSIDERAES FINAIS
O propsito deste ensaio foi o de enquadrar a questo da accountability
policial de maneira til. Assim sendo, ele dispensou, nesta ocasio, o
prembulo usual de uma reviso sistemtica da considervel literatura sobre
o assunto, que pode ser encontrada nas obras referenciadas mais abaixo.
Ainda assim, oportuno compartilhar alguns dos vnculos com algumas
obras que, importante assinalar, so a semente, a provocao, o convite a
partir dos quais se pode apresentar os elementos acima.
O vnculo mais tnue diz respeito transitividade, passagem, dos
termos centrais da problemtica tratada (accountable, account e
accountability). Esforos anteriores j haviam identificado o conjunto de
expectativas, de significados socialmente situados, que se associam a cada
um deles no idioma ingls. Aqui foi necessrio romper com a ambio,
em si mesma meritria, de intentar uma traduo, como apresentado na
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
6 4
nota inicial que abre o texto. O fato simples que, como dizem os italianos,
traduttore tradittore, toda traduo (alguma) traio. E o acervo de alguns
desvios apresentou-se como demasiado para os propsitos do texto.
Revelou-se oportuno priorizar a discusso do contedo dos termos,
preservando-os em seu idioma original. Aqui a discusso foi propriamente
exploratria. oportuno registrar apenas o carter do uso das palavras
em idiomas latinos, onde raiz e trajetria histrica apontam para
significados precisos e a forma prpria do uso do idioma ingls. At onde
possvel perceber, por exemplo, por responsible se entendem,
simultaneamente, ou se admite entender alternadamente, tanto responsvel
quanto responsabilizvel. Aqui os autores admitem francamente que o
que se apresenta mais acima um esforo inicial que busca imprimir algum
rigor a termos que se ambiciona possam vir a ser categorias teis.
J o vnculo com a temtica tratada, ela mesma, bem mais firme e
fcil de relatar. O problema mais amplo do que a accountability policial
tem sua expresso mais lmpida no trabalho de Goldstein (1977). A
responsabilidade por um evento de violncia policial ilustrada e
problematizada pelo autor a partir da explicitao de uma rvore de
responsabilidades possveis, que se inicia na polcia, vai ao governo e chega
at a sociedade policiada: inicia-se com o policial individual, passando por
seus superiores at o chefe de polcia, da para o Executivo e para o
Legislativo (que controla e aprova decises de nomeao), e culmina
atingindo os prprios cidados que elegeram a um e outro. Revela-se,
com isso, um problema central explorado neste texto. Esforos de
imputao de responsabilidade no chegam a lugar nenhum quando eles
perdem de vista o encadeamento de instncias de discricionariedade, de
processo, de mediao e articulao entre a polity (que concede e objeto
do mandato policial) e a polcia (que o recebe e o executa). Produzem, no
limite, o inverso da responsabilizao, uma vez que conduz total
indistino entre delegaes, escolhas, aes, seus resultados e
conseqncias: se todos so, a todo tempo, responsveis por tudo, ento
no se tem como atribuir responsabilidades concretas a algum em
particular. Sem a pretenso de resolver este problema, Goldstein sugere
a responsabilizao poltica como um ramo frutfero a ser explorado nas
democracias, indicando, por exemplo, o processo eleitoral como um
espao relevante de expresso das autorizaes, demandas e
questionamentos do pblico, enfim, de sua aprovao ou desaprovao
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
6 5
em relao ao governo e s polcias.
Um encaminhamento contemporneo de alguma influncia o
esforo de Bayley (2001b), que ambiciona compreender a democratizao
das polcias no mundo a partir da replicao de determinadas normas e
rotinas. Sua maior preocupao a perverso, no sentido estrito, da polcia
num instrumento do Estado contra a sociedade, num primeiro momento,
e de grupos de poder sobre a sociedade, logo em seguida. Aqui o problema
outro. Trata-se da difcil passagem entre o que se ambiciona produzir
pela adeso a normas ou rotinas e a construo de mecanismos capazes
de produzi-las numa dada polcia, com um dado mandato policial, numa
dada polity, num determinado momento. A generosidade e a coragem de
oferecer um modelo so empanadas, portanto, pela carga de elementos
deixados implcitos do contexto de origem, isto , a falta de uma explicao
sobre como se operam tais normas e rotinas diferenciadamente na soluo
mltipla e concorrencial dos EUA para a questo policial, que admite uma
infinidade de polcias com mbitos e alcances sobrepostos ou coincidentes,
e com elementos de contorno afins e conflitantes. Claro, isso significaria
ter que lidar com o quanto este modelo mais um amlgama de
experincias e experimentos do que um modelo propriamente dito, e a
exatamente est o ponto: fazer polcia democrtica seria, ento, adotar
prticas policiais dos EUA? Esse um dos elementos centrais que motivou
a clarificao dos aspectos especficos que singularizam o processo de
accountability policial quando ele se faz, se coloca, e pretende ser til
para uma dada realidade social, ou seja, para uma dada polcia numa
determinada polity num determinado momento.
Quando Walker (2005) oferece mecanismos adaptveis, ou a
inspirao para a edificao de tais mecanismos, na sua nova
accountability, a seu turno, ele arrisca-se ambicionar demasiado, alm
do que seja possvel para a produo de accountability policial e seus
usos. Sua proposta estabelecer mecanismos em tempo real, abrangentes,
automticos e redundantes. Sistemas de account autnomos e sobrepostos
que se acionam automaticamente para todo e qualquer incidente, por
exemplo, de uso de arma de fogo pela polcia. Esses sistemas incluiriam
os prprios policiais da unidade envolvida, uma primeira cobertura;
departamentos especializados em account da polcia, uma segunda
cobertura, automtica e paralela a primeira; e ainda uma auditoria externa
de account, que monitora em tempo real as duas primeiras, oferecendo
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
6 6
uma terceira cobertura paralela e com autonomia para rever ou refazer
account. A partir de um certo ponto, se arrisca emancipar toda essa
atividade do que que a polity, ou a polcia, desejam para diversos
propsitos, pondo em tela a questo da oportunidade dos custos e
recursos necessrios para tal sistema. Um primeiro olhar que isso
enfrenta problemas crescentes de deseconomias de escala, quanto maior
seja a organizao policial que ensaie essa proposta. O que pode ser fcil
para departamentos de algumas centenas de policiais, pode ser difcil para
departamentos com milhares e impossvel para departamentos com
dezenas de milhares de policiais. Fica ainda uma questo de deseconomias
de mbito, isto , da disponibilidade de pessoas, da factibilidade concreta,
e mesmo da utilidade de account em tempo real de tudo num nvel padro
de detalhamento. H trade-offs, trocas cruzadas, evidentes em qualquer
proposta deste tipo e, no caso da accountability policial a sua soluo
evidente: escolhas nas diversas instncias de discricionariedade. Mas Walker
no enfrenta o problema da discricionariedade, que permeia e perpassa
todo o mandato policial, mesmo que se sujeite a ele, no mesmo exemplo,
ao aceitar sem discutir a prioridade da accountability do uso da arma de
fogo. Assim, no h espao para as instncias reais de discricionariedade
em sua proposta nem para o account nem na accountability. A new
accountability um pleito por uma full accountability, pura e
simplesmente. Por isso pareceu to relevante dar conta, de fato expor a
falcia, da busca por uma full accountability, o que levou, a seu turno, ao
que se explicou mais acima sobre selective accountability como capaz, de
fato unicamente capaz, de levar full responsibility.
O rumo dessa soluo parece corresponder a um dos rumos que
Goldstein apontava como capazes de vir a dar conta da questo, o do
arrimo terico, da construo de ambio conceitual, capaz de clarificar
o que a accountability em geral, e da dar conta do que especfico e
particular na accountability policial. Sem dvida que o que se exps aqui
mais derivado, desenvolvido, a partir de Bittner (1970, especialmente
1974, 1990b) do que de Goldstein, porque em Bittner que se tem o
rumo de uma teoria.
Mas ainda assim simples questo de justia apontar como a
explicitao e apreciao de Goldstein da rvore de responsabilidades,
refletida luz da construo terica de Bittner, permitiram avanar neste
texto rumo compreenso do processo de identificao de
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
6 7
responsabilidades (account) e da atribuio de cursos de responsabilizao
policial (accountability). tambm uma questo de justia indicar como a
clareza de Goldstein na denncia de uma apropriao de accountability
repercute na escolha do rumo de apresentao. Sucintamente, como uma
proposio de accountability policial no pode ser submetida, no pode
ser reduzida, a uma maneira de procurar saber como ser popular ou a ser
aprovado seja pela maioria, seja por uma minoria vocal. S faz sentido
considerar uma accountability policial como sendo a maneira pela qual a
polcia responde, em sentido amplo, sobre o exerccio do mandato
recebido da e aplicado na polity. Em outras palavras, para Goldstein, o
problema de se precisar a accountability policial o de como impedir que
a polcia possa ser uma vereda para a apropriao do exerccio do mandato
policial legtimo e legal por interesses privados, sejam os da maioria, sejam
os de minorias vocais.
Que a accountability tenha utilidade para a prpria polcia s soa
surpreendente porque no ao redor da execuo do mandato policial
que se costuma colocar a questo. O mais usual que a accountability
policial seja cobrada das polcias de diversas formas, em diversos
momentos, mas muito freqentemente quando a organizao policial est
fragilizada por algum resultado ou conseqncia indesejvel ou indesejada.
Mas se a questo da accountability contextualizada, quando se percebe
que ela no pertence exclusivamente a tais momentos, ento ganha-se
muito em densidade e clareza.
A institucionalizao de formas de accountability policial frtil,
uma vez que estrutura e recria capacidades para produzir account capaz
de sustentar novas accountabilities teis para o aprimoramento e para a
multiplicao do efeito da polcia. Isso admite diversos desdobramentos
sobre as formas pelas quais legitimidade e legalidade, consentimento social
e sua expresso legal, explicam a credibilidade policial e as formas como
esta ltima conforma a capacidade de uma polcia cumprir o seu mandato
que podem aguardar outra ocasio.
O mais importante destacar que este texto relata como a
accountability policial no , e se accountability policial no pode ser,
algo contra a polcia. Ao contrrio, como se espera ter demonstrado, a
accountability policial a contrapartida necessria aos poderes delegados
do mandato policial. Seu uso e aperfeioamento pertencem, tambm, ao
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
6 8
exerccio mesmo deste mandato. Dito de outra forma: uma polcia que
avalia a maneira pela qual exerce o seu mandato, como se pratica
discricionariedade em seu patrulhamento ou sua investigao ou sua anlise
forense com vistas melhora de seu desempenho, est fazendo
accountability, mesmo que no a chame assim. Porque desta forma que
se pode apreciar as escolhas, resultados e conseqncias do exerccio do
mandato.
Da abrem-se duas alternativas conclusivas conexas. A primeira a
de franquear o uso da accountability policial como ele se apresenta, isto ,
como um instrumento de utilidade para quem delega e para quem recebe
o mandato policial, isto , tanto para a polity quanto para a polcia. A
segunda argir pelo seus valor e oportunidade, o que pode corresponder,
na prtica contempornea, a argir pela compreenso de suas natureza e
forma e estimular a sua prtica para todos os envolvidos: para toda a
polity e, acima de tudo, para qualquer polcia.
Notas
1
Texto originalmente apresentado no Primer Curso Internacional em Rendicin de Cuentas de
la Polica, 14 a 18 de maio de 2007, cidade do Mxico, organizado por INSYDE (Mxico), com
apoio do CESC (Chile) e da rede Altus.
2
Somos devedores das lcidas observaes de Vargas (2005) em sua nota de ttulo (p. 19).
3
Como explicado na nota inicial, foram mantidos diversos termos em ingls, como forma de
poupar a exposio do trabalho de uma reviso dos esforos anteriores de traduo. Essa adeso
circunstancial a termos em idioma estrangeiro como vocbulos em um idioma latino necessita
de uma breve explicao de sua flexo. Sem embargo, para alm da imposio de um gnero (a
accountability, o account), estes termos so tratados como palavras de pleno curso no
idioma do texto. Assim diz-se a accountability quando se referencia a classe, uma
accountability uma instncia da classe, como em o mandato e um mandato. Note-se que
isso um pequeno ganho em relao lngua inglesa que no tem este uso para, por exemplo,
accountability. The accountability, a accountability de alguma coisa uma construo
rara, an accountability, uma construo em desuso. Em ingls se usa, de fato, accountability
tanto para a classe geral quanto para o caso especfico sem artigo, como em police accountability
ou at s accountability como sujeito de uma orao.
4
A responsibility full, -se plenamente responsabilizvel, porque se responde, sempre, pelos
resultados dos atos e omisses. No h, nem se pretende imunidade de quem quer que seja e
muito menos da polcia. Tudo o que decorre de um mandato accountable em termos dos
diagnsticos, prognsticos e por extenso do desempenho de uma determinada ao; por outro
lado, o diagnstico, o prognstico e a justificativa de uma determinada inao. Isso inclui at
mesmo a considerao do account de atos presumidamente decorrentes do mandato, mas cuja
pertinncia ateno de quem detm o mandato pode vir a ser questionada.
5
precisamente porque a accountability corresponde responsabilizao por escolhas que no
h contradio ao se afirmar que vai de full responsibility para selective accountability. A
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
6 9
realidade de ser-se plenamente responsabilizvel corresponde a uma accountability seletiva,
melhor ainda, a accountability seleta do que relevante para ou pelo mandato. Que a plena
responsabilizao s pudesse existir diante de uma accountability completa, total e contnua
revela-se assim como uma fantasia pedante.
6
No contexto dos relacionamentos humanos, o uso de fora expressa uma forma particular e
distintiva de produzir coero. Seus fins so os mesmos que os de qualquer alternativa coercitiva:
submeter vontades, alterando atitudes e influenciando comportamentos de indivduos e grupos.
O que o distingue de todas as outras formas coativas so seus meios, os meios de fora.
7
Klockars (1985) conclui que ,ainda que se possam encontrar diversos antecedentes e
experimentos anteriores rumo polcia, foi a experincia da Nova Polcia de Londres 1832 que
veio a se estabelecer como o marco na fundao das modernas burocracias policiais estatais,
tanto em termos de sua repercusso e emulao quanto como resultado de reconstruo das
trajetrias histricas que produziram a polcia. Sem embargo, o que se exprime no texto
significa que quem quer que receba o mandato policial, no importando se o exerce de maneira
permanente, interina, ou pontual, de fato polcia, independentemente de sua destinao
formal ou de sua identidade institucional, como o caso, por exemplo, do uso de contingentes de
voluntrios civis ou de efetivos militares como polcia. Assim, o processo de especializao de
organizaes estatais de fora exclusivamente orientadas para o mandato policial no se confunde
com algum tipo de monoplio, mas expressa uma realidade histrica presente em termos da
diviso social do trabalho e de determinadas solues para o problema da governabilidade.
8
Isto corresponde a desenvolvimentos, cuja semente est em Bittner (1974), luz de Bittner
(1990b), e que teve tratamento inicial em Proena Jr & Muniz (2006b).
9
oportuno lembrar que a discricionariedade foi descoberta pelos estudos policiais, revelando
o equvoco interpretativo pelo qual a lei teria inventado, e seria a mestra, do mandato policial.
Ver para uma trajetria deste entendimento Skolnick (1966), Goldstein, (1977), Bittner (1970),
Bayley (1982), Klockars (1985).
10
Na frmula extraordinariamente feliz de Muir (1977).
11
Revela-se, com isso, a dimenso do equvoco de se querer legislar a ao policial, da ambio
de control-la antecipadamente em lei, o que, paradoxalmente, sabotaria a prpria legalidade
da ao de polcia, pois tal legislao no poderia ser cumprida sem produzir imediatamente a
sua desqualificao, e, portanto, seria uma lei escrita para ser desobedecida. A tudo da ao
policial concreta seria ilegal. essa a discusso que informa a questo do profissionalismo
policial em Bayley & Bittner (1989) e que motivou a discusso anterior de seu contedo como
sendo a perspectiva de um novo profissionalismo em Klockars (1985).
Referncias Bibliogrficas
Banton, Michael (1964), The policeman in the community. Basic Books.
Bayley, David H & Bittner, Egon (1989), Learning the Skills of Policing, Law and Contemporary
Problems, 47: 3559. now in Roger G. Dunham and Geoffrey P. Alpert, eds., Critical Issues in
Policing contemporary readings 4
th
edition, 82106. Prospect Heights, Ill.: Waveland
Press.
Bayley, David H. (1985), Patterns of Policing: A Comparative International Perspective. New
Haven: Rutdgers University Press.
(1994), Police for the Future. New York and Oxford: Oxford University Press.
(1996). Measuring Overall Effectiveness In: Hoover, Larry H (1996): Quantifying
Quality in Policing (PERF): 37-54.
(1998a), What Works in Policing. New York and Oxford: Oxford University Press.
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
7 0
(1998b), Patrol, in David H. Bayley, ed., What Works in Policing, 2630. New York
and Oxford: Oxford University Press.
Bayley, David H. and Shearing, C. (1996), The Future of Policing, Law and Society Review, 30/
3: 585-606.
(2001a), The New Structure of Policing: description, conceptualization and research
agenda. Washington, DC: National Institute of Justice.
(2001b), Democratizing Police Abroad: what to do and how to do it. Washington:
National Institute of Justice.
Bittner, Egon (1967), The Police in Skid Row: a study in peacekeeping, American Sociological
Review, 32/5: 699715 now in Egon Bittner (1990), Aspects of Police Work, 131156.
Boston, Mass: Northeastern University Press.
(1970), The Functions of the Police in Modern Society: a review of background
factors, current practices, and possible role models. Rockville, MD: Center for the Study of
Crime and Dellinquency. now in Egon Bittner (1990), Aspects of Police Work, 89232. Boston,
Mass: Northeastern University Press.
(1974), Florence Nightingale in pursuit of Willie Sutton: a theory of the police, in
Herbert Jacobs, ed., The Potential for Reform of Criminal Justice, vol 3. Beverly Hills, CA:
Sage. now in Egon Bittner (1990), Aspects of Police Work, 233268. Boston, Mass: Northeastern
University Press.
(1983), Urban Police, in Encyclopedia of Crime and Justice. New York: The Free
Press. now in Egon Bittner (1990), Aspects of Police Work, 19-29. Boston, Mass: Northeastern
University Press.
(1990a), Aspects of Police Work. Boston, Mass: Northeastern University Press.
(1990b), Introduction, in Egon Bittner, Aspects of Police Work, 318. Boston, Mass:
Northeastern University Press.
Blumberg, Mark (2001), Controlling Police Use of Deadly Force assessing two decades of
progress in Dunham, Roger G & Alpert, Geoffrey P, ed (2001): Critical Issues in Policing
contemporary readings. Waveland Press, 4
th
Edition: 559-582.
Brooks, Laure Weber (2001), Police Discretionary Behavior a study of style in Dunham, Roger
G & Alpert, Geoffrey P, ed (2001): Critical Issues in Policing contemporary readings (Waveland
Press, 4
th
Edition): 117-131.
Chalon, Maurice; Lenard, Lucie; Vanderschureren, Franz and Vzina, Claude (2001), Urban
Safety and Good Governance: the role of the police. Nairobi: International Centre for the
Prevention of Crime.
Clarke, Ronald V (1992), Introduction in CLARKE, Ronald V, ed (1992): Situational Crime
Prevention: Successful Case Studies. Harrow & Heston: 1-42
Cordner, Gary W. (1996), Evaluating Tactical Patrol, in Larry T. Hoover, ed., Quatifying Quality
in Policing, 185206. Washington, D.C.: Police Executive Research Forum (PERF).
Cordner, Gary W.; Gaines, Larry K. and Kappeller, Victor E., eds. (1996), Police Operations:
analysis and evaluation. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.
Couper, David C. (1983). How to Rate Your Local Police. Washington, PERF.
Crank, John P. (2003), Institutional theory of the police: a review of the state of the art, Policing:
an international journal of police strategies and management, 26/2: 186-207.
Cusson, Maurice (1999), Quest-ce que la securit intrieure? (What is internal security?),
electronic document, University of Montreal, [crim.umontreal.ca], 22 pages.
Dziedzic, Michael J. (1998), Introduction in Robert B Oakley, Michael J Dziedzic and Eliot M
Goldberg, eds., Policing the New World Disorder: peace operations and public security, 3
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
7 1
18. Washington: National Defense University Press.
Feltes, Thomas (2003), Frischer Wind und Aufbruch zu neuen Ufern? Was gibt es Neues zum
Thema Polizeiforschung und Polizeiwissenschaft? (Fresh winds and a departure to new coasts?
What is new in police research and police science?), eletronic document, [www.thomasfeltes.de/
Literatur.htm], 9 pages.
Fielding, Nigel G. (2002), Theorizing Community Policing, British Journal of Criminology, 42:
147163.
Hansen, A.S. (2002), From Congo to Kosovo: Civilian Police in Peace Operations. London:
IISS / Oxford University Press.
Hoover, Larry T. (coord.) (1998). Police Program Evaluation. Washington DC: Police Executive
Research Forum and Sam Houston State University.
Hunt, Jennifer (1999) Police Accounts of Normal Force (in Kappeler, Victor E, ed (1999): The
Police and Society touchstone readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 2
nd
Edition:
306-324.
Jones, Trevor and Newburn, Tim (2002), The transformation of policing? understanding current
trends in policing systems, British Journal of Criminology, 42: 120-146.
Kappeler, Victor E et al (2000a) The Social Construction of Crime Myths in Kappeler, Victor E
et al (2000): The Mythology of Crime and Criminal Justice. Prospect Heights, Ill.: Waveland
Press: 1-26.
(2000b), Merging Myths and Misconceptions of Crime and Justice in KAPPELER,
Victor E et al (2000): The Mythology of Crime and Criminal Justice. Prospect Heights, Ill.:
Waveland Press: 297-310.
Kappeler, Victor E., ed. (1999), The Police and Society touchstone readings, 2
nd
Edition.
Prospect Heights, Ill.: Waveland Press.
Kelling, Geroge L (1996) Defining the bottom line in policing organizational philosophy and
accountability in Hoover, Larry H (1996): Quantifying Quality in Policing. Wahsington DC,
PERF: 23-36.
Kelly, Michael J. (1998), Legitimacy and the Public Security Function in Robert B Oakley,
Michael J Dziedzic and Eliot M Goldberg, eds., Policing the New World Disorder: peace
operations and public security, 399432. Washington DC: National Defense University Press.
Klockars, Calr B (1985), The Idea of Police. London: Sage.
Lima, Roberto Kant (1994), A Polcia da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora
Forense.
Manning, Peter K (1999a) Mandate, Strategies and Appearances in Kappeler, Victor E, ed
(1999): The Police and Society touchstone readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press,
2
nd
Edition: 94-122.
(1999b) Economic Rethoric and Policing Reform in Kappeler, Victor E, ed (1999): The
Police and Society touchstone readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 2
nd
Edition:
446-462.
(1999c) Violence and Symbolic Violence in Kappeler, Victor E, ed (1999): The Police
and Society touchstone readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 2
nd
Edition: 395-
401.
(2004), Some Observations Concerning a Theory of Democratic Policing (Draft),
Conference on Police Violence, Bochom, Germany, April. 8 pp.
McDonald, Phyllis Parshall (2001), COP, COMPSTAT, and the New Profissionalism mutual support
or counterproductivity? in Dunham, Roger G & Alpert, Geoffrey P, ed (2001): Critical Issues in
Policing contemporary readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 4
th
Edition: 255-277.
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
7 2
(2002), Managing Police Operations implementing the New York Crime Control
Model CompStat New York: Wadsworth.
Muir Jr, William Ker (1977). Police: Streetcorner politicians. Chicago: The University of
Chicago Press.
Muniz, Jacqueline (1999) Ser policial sobretudo uma razo de ser. Tese de Doutorado. Rio de
Janeiro: IUPERJ.
(2001), A Crise de identidade das polcias (The polices identity crisis), REDES 2001
Meeting, Washington, DC, electronic document, 42 pp.
Muniz, Jacqueline & Proena Jr, Domcio (2003), Police Use of Force: The Rule of Law and Full
Accountability, Comparative Models of Accountability Seminar. INACIPE, Ciudad de Mexico,
29-30 October, 10 pp.
Muniz, Jacqueline; Proena Jr, Domcio; Diniz, Eugenio (1999). Uso da fora e ostensividade.
Boletim de Conjuntura Poltica. Belo Horizonte, Departamento de Cincia Poltica, Universidade
Federal de Minas Gerais.
Neocleous, Mark (2000a), Social Police and the Mechanisms of Prevention, British Journal of
Criminology, 40: 710726.
(2000b), The Fabrication of Social Order: a critical theory of police power. London:
Pluto Press.
Proena Jr, Domcio (2003a), O enquadramento das Misses de Paz (PKO) nas teorias da
guerra e teoria de polcia, in Esteves, Paulo Luiz (org.), 2003. Instituies Internacionais:
Comrcio, Segurana e Integrao. Belo Horizonte: Editora PUC Minas.
(2003b). Some Considerations on the Theoretical Standing of Peacekeeping Operations.
In: Low Intensity Conflict and Law Enforcement 9(3): 1-34. Frank Cass Co.
Proena Jr, Domcio. & Muniz, Jacqueline (2006a), Rumos para a Segurana Pblica no Brasil
- o desafio do trabalho policial, in Bartholo, R. e Porto, M.F. Sentidos do Trabalho Humano. Rio
de Janeiro: E-Papers: 257-268.
(2006b) Stop or Ill call the Police! The Idea of Police, or the effects of police encounters
over time, British Journal of Criminology 46: 234-257.
Rahtz, Howard (2003), Understanding Police Use of Force. Monsey: Criminal Justice Press.
Reiner, Robert (1996) Processo ou Produto? Problemas de avaliao do desempenho policial
individual in Brouder, Jean-Paul, ed (2002): Como reconhecer bom policiamento. So Paulo:
EdUSP: 83-102.
Robinson, Cyril D.; Scaglion, Richard and Olivero, J. Michael (1994), Police in Contradiction:
the evolution of the police function in society. Westport, Conn: Greenwood Press.
Sacco, Vincent F (1996) Avaliando Satisfao in BROUDER, Jean-Paul, ed (2002): Como
reconhecer bom policiamento. Rio de Janeiro: EdUSP: 157-174.
Schmidl, Erwin A. (1998), Police Functions in Peace Operations in Robert B Oakley, Michael J
Dziedzic and Eliot M Goldberg, eds., Policing the New World Disorder: peace operations and
public security, 1940. Washington: National Defense University Press.
Skolnick, Jerome H. (1994 [1966]). Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic
Society. New York: Macmillan College Publishing Company, 3
rd
ed.
Vizzard, William J. (1995), Reassessing Bittners thesis: understanding coercion and the police
in light of Waco and the Los Angeles riots, Police Studies: International Review of Police
Development, 18/3: 118.
Varenick, Robert O. (2005), Accountability: sistema policial de rendicion de cuentas. Ciudad
de Mexico: Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Vargas, Ernesto Lpez Portillo (2005), Accountability: modelos distintos, lecciones comunes in
Da Accountability Seletiva Plena Responsabilidade Policial
7 3
Robert O Varenik, Accountability: sistema policial de rendicion de cuentas: 1948. Ciudad
de Mexico: Instituto para la Seguridad y la Democracia
VVAA (1998) Crime Organizado e Poltica de Segurana Pblica no Rio de Janeiro, Arch no. 19.
Walker, Samuel (2004), Science and Politics in Police Research: reflections on their tangled
relationship, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593/1:
137155.
(2005), The New World of Police Accountability. New York: Sage.
Whitaker, Gordon P (1996) What is Patrol Work? in Cordner, Gary W et al, ed (1996): Police
Operations analysis and evaluation. Prospect Heights, Ill.: Anderson Pub Co.: 55-70.
Jacqueline de Oliveira Muniz
& Domcio Proena Jnior
7 4
A
R
G
E
N
T
I
N
A
Artigo
A PARTICIPAO COMUNITRIA.
O CASO BRADFORD E A EXPERINCIA BRITNICA FRENTE AOS
DESAFIOS DO RACISMO, DA EXCLUSO SOCIAL E DO
TERRORISMO.
Gastn Hernn Schulmeister
*
O tema da participao comunitria chama a ateno para
o dficit de representatividade e para canalizao de demandas de
nossas sociedades, sendo til melhoria do funcionamento das
instituies de segurana.
A experincia do frum de participao social com a polcia,
na cidade de Bradford, onde as diferentes minorias tnicas esto
representadas diante de uma sociedade dividida com problemas
de excluso social e deteriorada pelo terrorismo, um modelo
para ser pensado na Amrica Latina.
A partir das realidades locais, a constituio de foros de
participao que garantam a diversidade em termos de classe social
derivada das desigualdades scio-econmicas, constitui uma
opo a ser levada em considerao na hora de formular polticas
em nossa regio.
INTRODUO
Para delinear polticas de segurana e impulsionar eventuais iniciativas
e reformas, primeiramente preciso, entre outras coisas, estar em
condies de fazer um diagnstico adequado da realidade a ser analisada,
comeando pelo cenrio em questo e pelas diferentes capacidades
institucionais com as quais se conta.
No entanto, no momento de pensar na busca de novas respostas
frente a demandas cada vez mais complexas, imperioso ter a imaginao
e a liberdade de pensamento suficientes para no ser prisioneiro de velhos
* Gastn Hernn Schulmeister Mestre em Estudos Internacionais pela Universidade Torcuato
Di Tella. Destaca-se em sua formao e experincia profissional ter sido Chevening Fellow 2006
do Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom, no Department of Peace Studies
da University of Bradford, para o estudo de processos de reforma da segurana em pases
emergentes de conflito. Este curso de aperfeioamento incluiu um programa com a West Yorkshire
Police, onde foram examinados os desafios de vigiar uma sociedade dividida dentro da Gr-
Bretanha. Alm disso, entre as diversas visitas de estudo realizadas, seu programa incluiu uma
estadia na Irlanda do Norte para observar a transformao dos servios de segurana como
parte do processo de paz em desenvolvimento.
7 5
esteretipos, em consonncia com a necessidade de entender e reconhecer
verdadeiramente o carter multifacetrio que a segurana supe, e a
abordagem holstica (leia-se integral) que a mesma requer em nossos tempos.
Partindo dessas premissas, o presente ensaio tem por objetivo
central ser o gatilho de novas idias na Amrica Latina. Para isso, o trabalho
enfoca a experincia do frum social na cidade de Bradford (Inglaterra)
com a West Yorkshire Police (WYP), diante dos desafios contemporneos
de vigiar uma sociedade dividida dentro do Reino Unido e a complexidade
do terrorismo internacional, como um modelo de participao a ser
considerado, conforme as realidades e necessidades locais.
Em conseqncia, a relevncia da abordagem da participao
comunitria no estudo de caso formulado, no qual as diferentes minorias
tnicas esto representadas, tem mltiplos aspectos inter-relacionados a
serem destacados.
Em primeiro lugar, a poltica implementada no Reino Unido serve
para exemplificar como, inclusive para temas complexos como o
terrorismo (associados geralmente a delitos federais e/ou que afetam a
segurana nacional desde o ponto de vista institucional), a abordagem
considerando a perspectiva local, o nvel de resposta mais inferior do
Estado, est ausente. Nesse sentido, esse caso, em particular, exemplifica
como o terrorismo repercute e desafia a gerao de respostas a partir
do contexto local.
Em segundo lugar, o tratamento no tradicional frente ao terrorismo
que se coloca nesse caso demonstra o reconhecimento da complexidade
que o fenmeno possui, desde o aspecto social, seja pela sua natureza ou
pelos efeitos colaterais que provoca no seio da sociedade, estando em
jogo questes de critrio tnico e religioso que se entrelaam. Isso
parte da aplicao prtica de um enfoque holstico da segurana realidade,
longe de ser um exerccio ou uma conjectura meramente terica e/ou
politicamente correta de abordar a questo.
Em terceiro lugar, a partir da experincia do frum de participao
comunitria das minorias em Bradford, abordada no presente ensaio,
adverte-se que o mesmo no esgota o tema do terrorismo e que, alm
disso, sua verdadeira origem remonta de fato a problemas de integrao
Gastn Hernn Schulmeister
7 6
social vividos pela sociedade britnica, cujos distrbios raciais ocorridos em
julho de 2001 foram o ponto de inflexo para as relaes da polcia com a
comunidade, tal como se analisar no desenvolvimento do presente trabalho.
Tal aspecto um dos pontos mais importantes a se ter em mente,
no s para entender a gnese do processo de mudana ocorrido no caso
Bradford, mas tambm porque a situao que a originou nos aproxima,
para sua possvel aplicao, das realidades derivadas dos problemas scio-
econmicos visveis em diversas comunidades da Amrica Latina.
Esses so alguns dos aspectos que, a partir das reflexes sobre a
participao comunitria no caso extra-regional de Bradford, sero
importantes para as correspondentes reprodues a serem promovidas
na Amrica Latina.
Nesse sentido, embora os problemas prioritrios em matria de
segurana em nossa regio (associados direta ou indiretamente s
desigualdades e marginalidade social) sejam menos complexos que o
terrorismo como problemtica, nem por isso deixam de ser menos
desafiantes, compartilhando, alm disso, a gnese que na verdade deu
origem aos mecanismos de participao em Bradford (a excluso social),
impossveis de serem superficialmente tratados sem que se ignore as
particularidades do caso.
CONTEXTO
Para identificar a literatura recente sobre o tema que nos agrega
em torno da participao comunitria, torna-se oportuno considerar como
marco de referncia o trabalho realizado pela Rede 14/Urb-Al.
Montada a partir da misso geral de buscar estabelecer um vnculo
de colaborao entre cidades de continentes diferentes, a Rede 14 constitui
um programa de cooperao descentralizado da Comisso Europia com
a Amrica Latina, cujo objetivo foi buscar solues consensuais para os
desafios comuns das cidades europias e latino-americanas, tanto em
matria de polticas urbanas, como de equipamentos, formao de
recursos humanos, liderana das autoridades locais e promoo das boas
prticas urbanas
1
.
A participao comunitria
7 7
Foi a partir de tais objetivos que a Rede se encarregou, durante os
ltimos trs anos (2003-2006), de monitorar polticas pblicas na esfera
da segurana cidad em nvel regional, junto com a anlise de estatsticas e
realidades particulares em cada pas considerado, constituindo uma fonte
de referncia bibliogrfica obrigatria e atualizada.
Independente de tal marco de referncia bibliogrfica, dois livros
de Luca Dammert, editados pela mesma Rede, so muito valiosos para
adentrar no tema da participao comunitria. Ambos so posteriores ao
trabalho conhecido como Documento Base (2003), que reflete os
alicerces tericos das discusses empreendidas desde ento
2
.
O primeiro o livro titulado Segurana Cidad: Experincias e
Desafios (2004)
3
, cujo texto se organiza em trs captulos, referentes
ao marco conceptual, s experincias temticas e s experincias
territoriais, reunindo contribuies de destacados especialistas da Amrica
Latina e da Europa, cujos enfoques de grande diversidade temtica e
metodolgica refletem o carter interdisciplinar do campo em estudo.
O segundo trabalho o livro Cidade e Segurana na Amrica Latina
(2005)
4
, cujas trs sees principais abordam as reas de interveno
dos governos locais, as diversas experincias locais e as ferramentas e
tcnicas de trabalho em nvel local. O trabalho em questo vem a
complementar os debates conceituais desenvolvidos at ento, constatando
a necessidade de focalizar a ateno sobre o papel do governo local na
preveno da violncia e da delinqncia.
Entre o restante da bibliografia de consulta merecem tambm
destaque outros dois trabalhos de Luca Dammert: um sobre Preveno
comunitria do delito na Amrica Latina (2004)
5
e outro sobre A
construo de cidadania como estratgia para o fomento da convivncia e
a segurana (2005)
6
.
Alm disso, o livro sobre Segurana e reforma policial nas Amricas
(2005)
7
se constitui em outra fonte a ser includa na bibliografia de destaque
mais recente. Nesse sentido, a anlise comparativa oferecida sobre
segurana pblica e sobre reformas policiais na Amrica Latina (com os
estudos de casos de Argentina, Brasil, Chile, Colmbia, El Salvador, Mxico
e Estados Unidos) constitui outra referncia obrigatria para todo aquele
interessado em abordar a relao polcia-sociedade.
Gastn Hernn Schulmeister
7 8
Vol taremos mai s adi ante a abordar al guns dos contedos
particulares da bibliografia previamente citada, para podermos
contextualizar e situar a discusso do presente trabalho com ferramentas
analticas e conceituais pontuais.
DESENVOLVIMENTO
As iniciativas de participao comunitria
Como esclarecimento conceitual, e para efeito de organizao
metodolgica, a participao comunitria sobre a qual se enfoca o presente
estudo de caso est associada fundamentalmente ao tipo de iniciativas que
se costuma reconhecer como produto da iniciativa do governo e da
instituio policial
8
, vinculadas ao mbito especfico de participao da
relao polcia-comunidade
9
.
No obstante, ao longo da anlise do caso Bradford, sero citados
outros tipos de iniciativas que nasceram da preocupao dos prprios
cidados, e esto mais vinculadas com associaes comunitrias.
Por sua vez, vale lembrar que dentro a bibliografia sobre o tema
outros tipos de classificaes mais completas costumam levar em conta
por um lado quem participa (distinguindo entre participao direta e
indireta, atravs dos vizinhos ou dos dirigentes da comunidade) e, por
outro, o tipo de participao desenvolvido (ativo ou passivo, estando
vinculado o primeiro mais com o formato e/ou com a prpria
implementao das iniciativas)
10
.
O Caso BRADFORD
Com o propsito de adentrarmos no estudo de caso em anlise,
pertinente traarmos algumas consideraes gerais sobre a cidade
de Bradford, assim como sobre a polcia, que tem sob sua jurisdio,
alm de Bradford, os distritos metropolitanos de Leeds, Wakefield,
Kirklees e Calderdale.
Situado ao norte da Inglaterra, o distrito de Bradford cobre uma
rea de aproximadamente 370 quilmetros quadrados, das quais cerca
A participao comunitria
7 9
de 65% rural. Por cauda de sua extenso constitui-se em um dos maiores
distritos da regio, com uma populao ao redor de 470 mil habitantes.
O distrito de Bradford bastante diversificado, tanto nas suas
paisagens quanto na sua demografia, contando com uma populao variada
que representa uma ampla gama de origens tnico-culturais e condies
econmicas, da qual se distingue uma importante populao asitica
proveniente, na sua maioria, do Paquisto.
A partir de seu crescente desenvolvimento e regenerao
populacional, Bradford teve que enfrentar diversos desafios, derivados
de um desemprego acima da mdia nacional, resultados educacionais e de
sade abaixo da mdia, e nveis de moradias abaixo do padro em algumas
partes do distrito.
A partir da diversidade de grupos tnicos, o distrito teve que
enfrentar problemas de integrao social, diante de reiterados incidentes
raciais, entendendo esses como incidentes onde a raa, etnia ou religio
da vtima foi percebida como um fator contribuinte para a causa do
incidente. Segundo registros oficiais, entre 2003-2004, 648 incidentes
raciais foram denunciados WYP (West Yorkshire Police).
Por sua vez, os problemas de integrao social se combinaram com
problemas de integrao econmica, com um alto ndice de desemprego
do qual so vtimas especialmente os grupos minoritrios, a partir dos
comportamentos raciais aludidos anteriormente. Tal quadro conduziu a
graves problemas de excluso social, aos quais a Unio Europia prestou
ateno, instituindo diversos programas de ajuda e cooperao internacional
(B-Equal project)
11
.
Segundo estatsticas oficiais em nvel nacional, perto de 2,5 milhes
de asiticos vivem na Inglaterra, muitos dos quais se assentaram nos centros
manufatureiros do norte do pas, como Bradford. O declnio da indstria
manufatureira afetou essas povoaes, levando muitos de seus cidados
ao desemprego e pobreza e cuja excluso social implcita seria
constatada depois dos episdios raciais de 2001
12
, os quais analisaremos
mais adiante.
Alm disso, adotando um critrio religioso, na zona de Yorkshire
as cidades de Bradford e Leeds abrigam um importante nmero de
Gastn Hernn Schulmeister
8 0
muulmanos, mesmo que de menor importncia, em termos absolutos,
do que o das comunidades presentes em Birmingham, Manchester e
Londres
13
. Neste sentido, as referncias aos muulmanos como
comunidade foram reiteradas, sobretudo aps diversos episdios
relacionados com o terrorismo internacional, o que obriga a tomar tal
comunidade como critrio social de anlise, longe de todo clich e
estigmatizao que usualmente os meios de comunicao costumam gerar
sobre tal classificao.
WEST YORKSHIRE Police
Quanto jurisdio da West Yorkshire Police (WYP), a mesma
excede cidade e ao distrito de Bradford, ao prestar servio a uma
populao com cerca de 2.1 milhes de habitantes que vivem em um dos
cinco distritos metropolitanos, cuja rea fsica assistida tem
aproximadamente 2.034 quilmetros quadrados
14
.
A WYP constitui a quarta maior fora policial da Inglaterra, contando
com cerca de 5.685 oficiais de polcia e 3.670 de pessoal civil (incluindo
461 policiais comunitrios de apoio), ambos com uma estrutura de
categorias formalizada, e organizada em 13 divises, das quais 3 se
encontram no distrito de Bradford (Bradford North, Bradford South e
Keighley).
15
Entre suas principais atividades, encontram-se o patrulhamento
dirio, as investigaes criminais, o controle do trnsito e o apoio
operacional. Nesse sentido, embora as divises policiais se encarreguem
de fornecer a maioria dos servios policiais dirios, dispe-se tambm de
equipes especializadas, localizadas nos quartis-generais e em outras
instalaes.
Quanto aos objetivos perseguidos, tal como consta no relatrio de
planejamento estratgico anual 2005-2006 da WYP
16
, as quatro prioridades
que esto estipuladas so: 1. trabalhar em sociedade para criar
comunidades mais seguras; 2. reduzir o crime e levar mais casos de delitos
Justia; 3. melhorar a satisfao e a confiana pblica; e 4. proceder a
melhor utilizao dos recursos humanos e materiais da fora.
Sobre a prioridade nmero 1 (a criao de comunidades mais
A participao comunitria
8 1
seguras) que o presente ensaio pretende lanar luz, principalmente
destacando, ao mesmo tempo, sua inter-relao com as preocupaes
com a confiana e com a boa imagem pblica da fora. Para isso, torna-se
oportuno considerar uma srie de feitos e episdios inter-relacionados
nos ltimos anos, os quais analisaremos nos pargrafos seguintes.
Terrorismo: entre conseqncias sociais colaterais e causas sociais
subjacentes
No dia 7 de julho de 2005, trs exploses ocorreram ao redor das
8h50min da manh no sistema de transporte subterrneo londrino. A
primeira delas ocorreu na Circle Line, entre as estaes Algate e Liverpool
Street, a seguinte na estao Edgware Road, e a terceira na Picadilly Line,
entre Russell Square e Kings Cross. s 9h47min, uma quarta exploso
ocorreu na parte superior de um London bus, em Tavistock Place
17
.
Como resultado dos atentados terroristas de 7 de julho de 2005 em
Londres (7/7), 52 pessoas foram assassinadas e centenas ficaram feridas.
Os autores dos atentados terroristas do 7/7, tambm mortos no
ataque suicida, foram identificados como: Mohammed Siddeque Khan,
Hasib Hussein, Shazad Tanweer e Jermaine Lindsay.
Khan, o mais velho dos quatro terroristas, com 30 anos, tinha
nascido em Leeds e parece haver sido o cabea do grupo. Da mesma
forma que Tanweer (22 anos) e Hussein (18 anos), Khan era a segunda
gerao de cidados britnicos, cujos pais eram de origem paquistanesa.
Os antecedentes dos homens no eram excepcionais, com pouca
diferenciao entre suas experincias de vida e de qualquer outra pessoa
da mdia de sua gerao, origem tnica e condio social, exceo de
Lindsay (de 19 anos) que nasceu na Jamaica.
Segundo o relatrio oficial sobre os atentados em Londres, o 7/7
18,
o grupo de jovens perpetrador dos fatos esteve motivado por um feroz
antagonismo para as percebidas injustias do Ocidente contra os
muulmanos e por um desejo de martrio
19
.
Entre outras coisas, se reconhece tambm que permanece sem
Gastn Hernn Schulmeister
8 2
esclarecimento at que ponto esteve envolvida a organizao al-Qaeda
nos ataques, assim como a possibilidade de que outros elementos no
Reino Unido estivessem envolvidos na radicalizao, na incitao do grupo,
ou na ajuda ao mesmo para planejar e executar o plano, mesmo porque
tambm no existe evidncia de um quinto atacante
20
.
No vasto trabalho, o relatrio publicado em maio de 2006 apresenta
detalhes de como os quatro atacantes se radicalizaram e de como os
ataques foram levados a cabo. Em relao sistematizao de movimentos,
obtida a partir do sistema de cmaras de vdeo CCTV e relatos de
testemunhas, cabe ressaltar a identificao da caminhonete na qual se
deslocaram os indivduos desde a cidade de Leeds, na Hyde Park Road, na
madrugada do dia 7/7
21
.
Uma vez ocorridos os episdios terroristas de Londres e
materializada a hiptese de que jovens islmicos britnicos que vivem no
Reino Unido pudessem se radicalizar ou serem influenciados pela ideologia
propagada pela rede al-Qaeda (debate gerado de antemo pelos episdios
do 11 de setembro nos Estados Unidos), a comunidade muulmana voltaria
a ser objeto de ateno, acusaes e suspeitas. Tal como consta no relatrio
oficial sobre o 7/7 previamente citado, o primeiro sinal concreto de que
o Reino Unido transformara-se em um alvo de ataque terrorista, mesmo
que no houvesse indcio algum de um envolvimento de al-Qaeda, foi em
novembro de 2000, quando dois cidados britnicos de origem bengali
foram detidos em Birmingham, resultando na condenao de um deles
por delitos relacionados com explosivos, sendo sentenciado a 20 anos de
priso
22
.
Segundo Roger Ard, analista de assuntos islmicos da BBC, s
recentemente as comunidades muulmanas estiveram no centro da
polmica, apesar de terem se estabelecido no Reino Unido h muito tempo.
Segundo o especialista, at a campanha contra o escritor Salman Rushdie,
em fins da dcada de 80, a maioria dos britnicos estava pouco consciente
da criao de novas comunidades islmicas em cidades industriais como
Leeds e Bradford. Nesse sentido, o caso Rushdie abriu pela primeira
vez um debate sobre a possvel apario de uma nova gerao de jovens
muulmanos descontentes.
23
Em termos de polcia, o impacto dos eventos terroristas do 7/7
em Londres foi direto sobre a West Yorkshire. A investigao sobre
A participao comunitria
8 3
aqueles que cometeram os atos terroristas conduziu ao condado no qual
tem jurisdio a WYP, em uma investigao conjunta com a rea
metropolitana (a Operao Theseus) que demandou um importante
esforo de tempo e recursos.
Entre os episdios mais recentes que envolvem a zona, no dia 5 de
maro de 2006, quatro homens, dois de 18 anos e dois de 19 anos,
foram detidos na residncia de estudantes da Universidade de Bradford,
sob a suspeita de cometerem delitos de terrorismo. Segundo um porta-
voz da Polcia Metropolitana (Scotland Yard), os quatro indivduos foram
detidos pela suspeita da comisso de preparao ou instigao de atos de
terrorismo, contemplados sob a Ata de Terrorismo 2000, mesmo que
no tenha existido conexo com os atentados do 7/7.
24
Alm disso, em junho de 2006 por exemplo, um homem de
Bradford, de 21 anos e de origem paquistanesa, foi detido no Aeroporto
de Manchester. Segundo fontes consultadas pela BBC, aps sua captura o
suspeito foi interrogado em relao a detenes levadas a cabo no Canad
por um suposto atentado frustrado da al-Qaeda. A operao envolveu a
WYP e o servio de inteligncia interior britnico MI5, assim como a
Scotland Yard. Por tais motivos, a polcia de Yorkshire investigou diversas
propriedades na rea de Bradford.
25
Em conseqncia, aos objetivos do presente ensaio
26
, merece ser
destacado que a procedncia dos terroristas do 7/7 da cidade de Leeds,
limtrofe a Bradford, concentrou a comoo social na zona pela
possibilidade de que rapazes britnicos, pertencentes comunidade
muulmana, tenham sido os primeiros suicidas nacionais a levar a cabo
atentados em solo britnico, colocando dvidas sobre o porqu da
radicalizao dos jovens.
27
No entanto, a despeito do racismo e a da desintegrao social no
seio da sociedade britnica terem sido potencializados pelo acirramento
do terrorismo em Londres em 2005
28
, cabe ressaltar que distrbios
raciais ocorreram anteriormente, inclusive, aos episdios do 11/9 nos
Estados Unidos.
Esse um ponto importante a ser levado em conta, para deixar
claro que a conformao dos fruns de participao comunitria em
Bradford no foi motivada pela preocupao com o terrorismo (no pelo
Gastn Hernn Schulmeister
8 4
menos como fator originrio, mesmo que os desafios do acionamento
terrorista transformassem posteriormente tal mecanismo social em uma
ferramenta importante em termos de poltica contraterrorista), mas nos
problemas de marginalidade e de excluso social e as correspondentes
tenses sociais que analisaremos na continuao deste trabalho.
Sem a inteno de pretender dar conta do fenmeno terrorista e
de suas motivaes, convm traar algumas consideraes acerca da
possvel incidncia da marginalidade social, para criar circunstncias nas
quais, mediante ressentimento e dio, a populao seja potencialmente
recrutada por movimentos extremistas, diferentemente de toda explicao
centrada exclusivamente no fator religioso, com a estigmatizaco que tais
enfoques fechados geram sobre o Isl.
29
Enfrentamentos raciais de 2001
No ms de julho de 2001, na cidade de Bradford, ocorreram graves
enfrentamentos raciais entre grupos de brancos e asiticos, na sua maioria
bengalis e paquistaneses.
Durante trs noites consecutivas os eventos, qualificados na poca
como os piores nos ltimos 20 anos na Inglaterra, produziram uma cidade
com edifcios e automveis em chamas, onde a polcia, atacada por garrafas
e bombas incendirias, entre outras coisas, se sentia obrigada a retroceder,
no contando at ento com os recursos mais eficazes para a conteno
de episdios de tal natureza.
30
A tenso comeou aps o planejamento de uma marcha em Bradford
por parte da Frente Nacional, que o grupo da extrema direita britnica.
Posteriormente, a Liga Anti-Nazista local decidiu realizar uma
contramanifestao, da qual participaram aproximadamente 500 pessoas, a
maioria de origem asitica, e, depois da provocao de um grupo de brancos
gritando palavras de ordem com mensagens racistas populao, tudo se
degenerou em distrbios, dos quais participaram mais de mil jovens.
Em conseqncia, Bradford se transformou em mais uma das cidades
do norte da Inglaterra que registraram fatos de violncia racial nos ltimos
tempos, embora os incidentes raciais registrados em Oldham e Burnley
no tenham sido to graves.
A participao comunitria
8 5
Como resultado final das trs noites de distrbios, fora os destroos
e perdas materiais (calculadas entre trs e quatro milhes de libras
esterlinas), as detenes e os policiais feridos, a polcia foi quem atraiu as
maiores crticas. Nesse sentido, uma grande proporo da comunidade
asitica culpou, pelos episdios, a falta de compreenso da polcia e de
outras agncias governamentais, e com isso os eventos corroeram toda
confiana e credibilidade construda at o momento.
31
Um relatrio oficial sobre a situao de Bradford, tornado pblico
depois dos distrbios de 2001, embora escrito muito antes da onda de
violncia, criticava a intolerncia racial, a incapacidade das autoridades de
solucionar os problemas da cidade e a falta de uma poltica de integrao,
explicando que a polarizao racial na cidade era produto, sobretudo,
de escolas e comunidades virtualmente segregadas.
32
Alm disso, segundo as concluses de sucessivos relatrios que
averiguaram as causas dos distrbios nas cidades de Bradford, Oldham e
Burnley, as zonas urbanas racialmente segregadas foram o caldo de cultura
para os distrbios do vero de 2001 na Inglaterra.
33
Entre episdios similares posteriores, que lembraram os incidentes
raciais em Bradford, 200 pessoas entraram em choque em Wrexham
(norte de Gales) em uma segunda noite de incidentes entre residentes
locais e refugiados iraquianos, em junho de 2003. Os problemas
comearam quando aproximadamente 30 pessoas se viram envolvidas
em dois incidentes separados, em uma zona residencial de Wrexham, e a
polcia teve que intervir depois que a violncia resultou em choques que,
segundo se entendeu, foram motivados por racismo.
34
Esse constitui
apenas outro exemplo menor de um tema que est latente no Reino Unido
e que merece ateno constante.
As relaes com a comunidade
Em concordncia com o assinalado anteriormente, o cenrio
posterior aos distrbios raciais de 2001 encontrou a uma polcia sem
estratgia de coordenao de relaes raciais, com uma carncia de contato
formal ou informal com a comunidade, com pouca confiana e credibilidade
na fora, e com pouco apoio e compreenso local da situao. Esses seriam
os diferentes eixos de dificuldades e debilidades, e, alm disso, os desafios
Gastn Hernn Schulmeister
8 6
sobre os quais se identificariam, a partir de ento, os eixos de trabalho.
Em conseqncia, a aproximao da comunidade passou a ser o
enfoque prioritrio. Nesse sentido, promoveu-se o contato em todos os
nveis, tanto com organizaes, como com grupos comunitrios e indivduos
particulares. Isso implicou o dilogo dirio, para o qual estava claro que a
transparncia devia ser a principal ferramenta de trabalho e gesto.
Depois de ter desenvolvido os episdios raciais de 2001 e a agenda
de trabalho que a situao posterior demandou, configura-se agora
oportuno adentrarmos nos alvos da ateno da polcia, hoje refletidos
por suas prioridades, para analisar algumas das iniciativas materializadas.
Vale destacar que, enquanto para atender prioridade 1 (trabalhar
em sociedade para criar comunidades mais seguras), focaliza-se a
preveno da desordem e do comportamento anti-social, para a prioridade
3 (melhorar a satisfao e a confiana pblica) utiliza-se a idia da polcia
comunitria (Neighbourhood Policing)
35
, a gesto de demandas sociais e
o apoio a vtimas e testemunhas.
Da a razo de uma poltica por uma comunidade mais segura
36
, a
partir da qual concretizou-se a constituio de um frum social com
comunidades tnicas minoritrias (Bradford and District Minority Ethnic
Communities Liaison Committee), que entre suas aes iniciais teve a
emisso de um programa de rdio.
Esse constitui um dos 20 foros comunitrios que a polcia possui
em West Yorkshire (Police Community Forums), a maioria dos quais se
rene quatro vezes ao ano
37
, embora no caso particular de Bradford a
periodicidade de suas reunies esteja acima da mdia na sua regularidade.
Sobre seus objetivos, vale mencionar que os referidos encontros
so levados a cabo respeitando, principalmente, quatro pontos: 1.
promover e melhorar as relaes entre o pblico e a polcia; 2. permitir
uma melhor compreenso sobre o uso dos recursos policiais disponveis,
3. debater sobre os planos da autoridade policial, e 4. dar populao a
oportunidade de falar com oficiais de alto grau sobre suas preocupaes,
de oferecer impresses e de fazer sugestes sobre a vigilncia na
comunidade local.
38
A participao comunitria
8 7
Em termos operacionais, cada encontro tem uma agenda
preestabelecida, que encaminha uma discusso sobre temas policiais
39
.
No caso de Bradford, costuma-se complementar o encontro com um
jantar, onde os participantes interagem em um clima mais informal e
descontrado com a polcia.
Dessa forma, a participao da comunidade na prtica comeou a
exercer, alm disso, o papel do que na teoria se identifica como um
mecanismo externo de accountability, complementar aos mecanismos
internos da instituio policial, entendendo-se que a participao cidad
deve ser vista no s como um meio para assegurar que as foras policiais
respondam aos problemas da cidadania, mas tambm que atuem de maneira
transparente e responsvel.
40
Quanto ao formato dos foros de participao, cada reunio
presidida por um membro da WYP com um forte esprito igualitrio e o
vice-presidente designado por eleio entre seus membros. Por sua
vez, embora a participao no frum esteja aberta a todo aquele que viva
ou trabalhe na comunidade local correspondente
41
, sua incorporao
prvio contato com o Departamento que em cada distrito policial se
dedique em particular a esse tema (Community Consultation Team)
est condicionada a uma aprovao por parte do resto dos integrantes,
buscando-se, ainda, a diversidade tnica e religiosa.
Mas, sem contradizer a necessidade de focalizar a ateno sobre o
papel dos governos locais, usualmente ressaltada na Amrica Latina diante
de paradigmas de participao tradicionais que tinham como ator quase
exclusivo as instituies policiais
42
, os foros de participao comunitria
em West Yorkshire sugerem que a concepo de local deve exceder
tambm ao exclusivamente governamental.
Nesse sentido, a experincia de Bradford eloqente, com um
frum social coordenado diretamente com a polcia, cuja participao
nos foros faz parte do plano de ao em que a polcia executa sua poltica
em matria de consultas com a comunidade, mesmo que tal possvel
distino venha a depender tambm se o conceito de governo local
exclusivamente sujeito autoridade poltico-governamental, ou se tem
mais um carter institucional-estatal, com o qual toda iniciativa promovida
e/ou implementada pela polcia estaria j contemplada.
Gastn Hernn Schulmeister
8 8
No entanto, tambm est presente o mbito claramente no-
governamental e nem estatal, em que a sociedade se organiza por si s, em
consonncia com a necessidade de contemplar e incluir novos mecanismos
de participao da cidadania, no interesse da convivncia em nvel local.
Nesse sentido, voltando s iniciativas na cidade de Bradford, no nvel social
tambm surgiu a Aliana contra o dio de Bradford (Bradford Hate Crime
Alliance -BHCA-), cuja associao compreende organizaes voluntrias ao
longo do distrito, que se uniram para lutar contra o dio racial
43
. Para isso,
tal associao ressalta a importncia da populao ter a possibilidade de
informar incidentes dentro de suas comunidades locais.
Em relao a assuntos considerados chaves em matria de relaes
com a comunidade, a polcia em Bradford concebe um importantssimo e
crescente papel mulher, como ator principal para combater a ingerncia
de extremistas entre as diferentes comunidades.
Alm disso, o trabalho de inteligncia policial est focalizado na
manipulao efetiva de potenciais desordens sociais e eventos espontneos
organizados pelas comunidades, como correlato lgico das desordens
ocorridas no ano 2001, previamente analisadas.
No aspecto capacitao dos recursos humanos da fora policial,
este processo foi acompanhado de um treinamento de conscincia cultural,
junto com uma poltica que incentivou o recrutamento de efetivos
provenientes das comunidades minoritrias e a lio de que as iniciativas
necessitam ser estipuladas e no impostas.
Sob essa lgica de trabalho, a participao da populao e o
julgamento sobre o impacto na comunidade foram muito valiosos,
buscando-se melhorar a comunicao com a fora que era identificada
como uma fonte de insatisfao para muitos na sociedade.
Agora, para entender esses tipos de iniciativas em Bradford,
preciso ter em mente tambm seu impulso como resultado da vigncia
de um enfoque baseado na comunidade (community-based approach), o
qual enfatiza tanto as reformas na polcia como tambm a reconstruo
de sua imagem pblica.
Trata-se de uma viso que, longe de ter um enfoque limitado, prope
polcia e comunidade que trabalhem juntas em sociedade, em prol de
A participao comunitria
8 9
canalizar as preocupaes das comunidades particulares, podendo, nos
seus casos bem-sucedidos, desenvolver segurana e assegurar o
desenvolvimento.
44
Esse constitui outro ponto importante a considerar (ressaltando a
possvel e recomendvel inter-relao entre teoria e realidade, no interesse
de sua melhor aplicao prtica), a partir da priorizao na Inglaterra de
um enfoque macro para pensar o setor da segurana, que est diretamente
relacionado com uma concepo da perspectiva do desenvolvimento.
Sobre isso nos ocuparemos mais frente, depois de retomar alguns
assuntos interconectados com o terrorismo.
Terrorismo: a ateno de um fenmeno sensvel
Voltando s consideraes sobre os efeitos diretos ou indiretos
provocados pelo fenmeno do terrorismo internacional, as iniciativas de
participao comunitria, alm de promover a confiana com a polcia e
alcanar um feedback de informao com comunidades onde elementos
radicais pudessem pretender amparar-se ou recrutar adeptos, constituem
uma ferramenta fundamental para o trabalho contra a estigmatizao
miditica, da qual geralmente diversas comunidades tnicas minoritrias
terminam sendo objeto.
Entre os episdios mais recentes no Reino Unido, basta citar a
renovada preocupao da polcia com a segurana das comunidades
muulmanas e a relao com elas, depois da deteno de 24 pessoas,
todos eles muulmanos britnicos de origem paquistanesa, em conexo
com um suposto plano terrorista frustrado, que consistia em detonar
explosivos lquidos em aproximadamente 10 avies com destino aos
Estados Unidos. As prises foram levadas a cabo nas cidades de
Birmingham, High Wycombe (ao oeste de Londres) e no distrito de
Walthamstow, na capital britnica, em uma mega operao de grande
repercusso na mdia nacional e internacional.
45
Perante tais eventos, o secretrio-geral do Conselho Muulmano
britnico, Mohammed Abdul Bari, disse que os muulmanos apiam a
represso ao terrorismo, mas advertiu sobre uma distncia crescente
entre eles e a polcia.
46
Gastn Hernn Schulmeister
9 0
Aps uma operao policial em uma casa, em junho de 2006, em
Forest Gate (zona leste de Londres), na qual um homem muulmano de 23
anos (Mohammed Abdul Kahar) foi ferido no ombro e detido junto com
seu irmo de 20 anos (Abul Koyair), embora posteriormente tenham sido
libertados sem acusaes, Mohammed Abdul Bari alertou que a confiana
entre a comunidade muulmana e a polcia poderia ser danificada.
47
O frum de participao de Bradford no ms de maro de 2006,
entre outros temas, foi palco de discusses sobre a preocupao gerada
nas comunidades minoritrias pela deteno de quase 20 estudantes da
Universidade de Bradford, acusados de estarem vinculados a atividades
terroristas. Todos estes fatos configuram-se em episdios que formatam
na realidade diria o debate entre segurana e liberdade, em relao aos
limites na luta contra o terrorismo.
Se nos remontarmos poltica contraterrorista da WYP, o
terrorismo definido como um dos crimes mais desafiantes que enfrentam
as foras policiais em nvel nacional, para os quais, em diferentes eixos de
trabalho
48
, considera-se vital o papel dos oficiais de polcia em relao aos
quatro aspectos da estratgia contra terrorista do governo (preveno,
perseguio, proteo e preparao).
Dentro de tal espectro de atividades que uma problemtica
complexa como o terrorismo demanda, a WYP concebe o trabalho com
a comunidade, seja direto ou indireto, dentro do seu padro de ao,
com atividades destinadas a diminuir o apoio a terroristas nos coraes
e mentes da gente, alinhado com a preveno do terrorismo abordando
causas subjacentes, e um trato com o pblico de modo tal que o mantenha
melhor informado sobre a natureza da ameaa e a forma como se pode
ajudar a polcia a prevenir atos de terrorismo.
49
Entre as demais atividades que a polcia busca empreender
encontram-se: manter um corpo local de operaes efetivo e eficiente
(capaz de trabalhar em apoio aos servios de segurana para reunir
informao sobre supostas redes terroristas); realizar tarefas de
inteligncia sobre terroristas e aqueles que os apiam; e preparar-se
para possveis conseqncias, desenvolvendo um amplo plano de
contingncia e treinamento para melhorar a capacidade de superar
ataques e outros desafios.
50
A participao comunitria
9 1
Convm, por fim, ressaltar que, embora a verdadeira origem do
frum de participao comunitria em Bradford remonte a problemas de
integrao social vividos pela sociedade britnica, segundo o analisado
previamente, no se pode perder de vista que os objetivos da polcia ao
criar comunidades seguras esto alinhados ao seu trabalho com a prioridade
estratgica nacional de resistir ao terrorismo e sua ameaa.
51
Tal assertiva pode ser constatada, por exemplo, no relatrio de
planejamento estratgico anual 2004-2005 da WYP
52
, ao associar-se
explicitamente prioridade nacional de enfrentar ao terrorismo (junto
das prioridades relacionadas a enfrentar o comportamento anti-social e a
desordem, e s referentes ao compromisso comunitrio), prioridade
da WYP de manter a paz visando criar comunidades mais seguras, segundo
o padro de ao operacional do Chefe de Polcia.
53
A segurana a partir da perspectiva do desenvolvimento
Para terminar, e voltando concepo do enfoque padro imperante
no Reino Unido para pensar a segurana, preciso comear lembrando
que esta usualmente reconhecida como uma condio essencial para o
desenvolvimento duradouro de uma sociedade, sendo justificvel a
preocupao central que ela gera entre os mais pobres.
Esse enfoque fundamentado pelo que se entende como a
perspectiva do desenvolvimento, a partir da qual se promoveram
internacionalmente reformas na segurana de pases emergentes de conflito,
entendo-se que o papel do Estado, e de suas foras, causa impacto direto
sobre as oportunidades para o desenvolvimento sustentvel e para a
segurana fsica da populao.
Esse foi o caso da Organizao das Naes Unidas (ONU), do
Banco Mundial, da Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento
Econmico (OECD) e do Reino Unido em particular, que fizeram da
reforma do setor de segurana uma prioridade em suas polticas de
desenvolvimento, atravs dos projetos de cooperao internacional.
54
Enquanto isso, outros atores, como o Fundo Monetrio Internacional ou
a prpria Unio Europia, lidaram com certos aspectos da segurana,
mas apenas ocasionalmente, como parte de um programa integral de
reformas no setor.
55
Gastn Hernn Schulmeister
9 2
O Conceito do SECURITY SETOR REFORM
A partir da perspectiva em questo, infere-se o que se entende
como Security Setor Reform (SSR), cuja acepo data de fins dos anos 90
e vem ao encontro do conceito de segurana humana, entendida a partir
da perspectiva da proteo dos indivduos, em contraste com a concepo
clssica da segurana nacional, centrada nos Estados.
O SSR um termo utilizado para descrever a transformao do
sistema de segurana, (o qual inclui todos os atores envolvidos, seus
papis, responsabilidades e aes), trabalhando em conjunto para
administrar e operar o sistema de acordo com as normas democrticas e
princpios do bom governo, contribuindo dessa forma, para um bom
funcionamento do padro de segurana.
56
Da mesma forma, a ateno sobre o setor da segurana sugere a
identificao de todas aquelas organizaes em uma sociedade que so
responsveis por proteger ao Estado e a suas comunidades, e a relao
entre elas.
Entretanto, um aspecto a destacar que os objetivos da reforma
do setor de segurana, a partir de uma perspectiva do desenvolvimento,
diferenciam-se de metas orientadas militarmente, no sentido que a estrutura
e a capacidade dos atores do setor na sua integridade (militares e de
polcia) devem ser otimizados para o desenvolvimento social, econmico,
poltico e humano.
Nesse sentido, o objetivo final do SSR criar foras que sejam
funcionalmente diferenciadas, foras profissionais sob o controle civil
objetivo e subjetivo, e com a menor utilizao funcional de recursos
possvel, para a proviso da segurana populao. Um entrecruzamento
de dimenses, do qual surgem principalmente os dilemas entre o controle
civil e a profissionalizao (nveis poltico e institucional) e entre a utilizao
de recursos e a proviso de segurana (nveis de desenvolvimento
econmico e da sociedade).
Em conseqncia, conforme a perspectiva esboada, o setor da
segurana requer pessoal competente e uma boa gesto operando dentro
de um padro institucional definido por lei. Em caso contrrio, a m gesto,
entre outras conseqncias, torna-se obstculo para o desenvolvimento,
A participao comunitria
9 3
desestimula o investimento e ajuda a perpetuar a pobreza.
57
Por que pensar a segurana como um setor?
Levando-se em conta, portanto, que dos diferentes atores
envolvidos na segurana e no funcionamento da estrutura institucional
depende o desenvolvimento sustentvel integral da sociedade, a ateno
ao setor configura-se claramente inevitvel e seu resultado fundamental
para projetar cenrios favorveis nos pases emergentes de conflito, tais
como Serra Leoa, Timor Leste, Afeganisto ou Haiti, no caso regional da
Amrica Latina, para citar apenas alguns exemplos.
No entanto, o reconhecimento do setor de segurana sugere a
necessidade de ser realizado um diagnstico sistematizado, antes de pensar
em possveis reformas e melhoras em qualquer pas, conforme as
particularidades do caso, na busca de um melhor desempenho das
instituies, da garantia de um melhor clima de segurana e em nome do
desenvolvimento da sociedade.
Voltando ao estudo do caso particular de Bradford, esse
testemunha de como o enfoque de segurana holstico, que presta ateno
aos desafios que as reformas de segurana supem, no apenas aplicvel
a cenrios de pases emergentes de conflito no subdesenvolvimento (sobre
o qual a grande maioria da bibliografia a respeito costuma se ocupar), mas
tambm a pases desenvolvidos como a experincia do Reino Unido o
sugere.
58
Frente ao desafio de abordar a segurana a partir da uma perspectiva
do desenvolvimento, a viso do SSR oferece, dessa forma, um enfoque
analtico que ajuda na abordagem integral que os assuntos de segurana
merecem, ao mesmo tempo que nos brinda com ferramentas para
pensarmos na formulao de polticas concretas.
59
CONCLUSO
Aps analisar o caso britnico de Bradford, resta concluir que embora
o tema do terrorismo provavelmente tenha potencializado a segregao
racial e as desconfianas no seio da sociedade britnica (sobretudo depois
dos episdios terroristas do 7/7 em Londres), os piores problemas raciais
Gastn Hernn Schulmeister
9 4
j haviam se manifestado anteriormente.
No obstante, ainda que os episdios raciais de 2001 tenham sido
uma advertncia antecipada sobre questes sociais que excedem ao tema
do terrorismo, suas lies em matria de relaes com a comunidade,
encontraram as autoridades britnicas mais conscientes ante a sensibilidade
da problemtica aps os episdios posteriores.
A experincia dos distrbios de 2001 em Bradford, e os
conseqentes desafios que a WYP teve que enfrentar em matria de relaes
com a comunidade, foram sem dvida determinantes para uma melhor
resposta aos temas comunitrios ps 7/7, no prprio territrio ingls.
Por outro lado, no sendo na verdade o terrorismo o fundamento
exclusivo nem originrio do frum de participao impulsionado em Bradford
(mesmo que hoje o mesmo possa ser fundamental para a poltica contra
terrorista do pas), a preocupao implcita pela excluso social diante dos
enfrentamentos raciais na Inglaterra faz a experincia ainda mais aconselhvel
para ser tomada como referncia para a Amrica Latina.
Coerente s consideraes preliminares sobre a responsabilidade e
seriedade que supe a discusso de uma poltica de segurana, mediante
diagnstico de realidades e capacidades, encerraremos o presente ensaio
com a proposta de encorajar iniciativas de participao comunitria na
Amrica Latina como um caminho a percorrer, mais do que uma frmula
de como percorr-lo.
Para este caminho a seguir diante das prioridades locais, incentivar
a criao de foros de participao comunitria que garantam a diversidade
em termos de classe social (derivada das desigualdades scio-econmicas
e da marginalidade), constitui uma opo a ser considerada, para a formulao
de polticas em nossa regio, cujo debate parece oportuno promover.
Hoje, quando so recorrentes, por exemplo, os debates sobre a
privatizao da segurana (e como os maus servios estatais em matria de
segurana so deficientes, principalmente para os mais carentes), trabalhar
por sistemas de participao social nos quais estejam refletidas as
preocupaes das diversas realidades socioeconmicas no parece ser um
detalhe menor.
A participao comunitria
9 5
Por sua vez, o tema da participao comunitria chama a ateno
para o dficit de representatividade e para a canalizao de demandas de
nossas sociedades, sendo til, em primeiro lugar, imagem das instituies
de segurana e contribuindo, em ltima instncia, ao funcionamento do
sistema de forma integral.
Notas
1
Na data do fechamento da publicao da primeira revista da Rede 14 Segurana Cidad na
Cidade do programa Urb-Al, no Chile, participavam 19 comunidades e, em nvel mundial,
existam 29 pases scios, com um total de 189 cidades. Para visitar o portal da rede dirija-se a
http://www.urbalvalparaiso.cl/p4_urbalred14/site/edic/base/port/portada.html
2
O Documento Base foi a publicao de fundao da Rede 14, que definiu a problemtica da
segurana cidad na Europa e na Amrica Latina, com o objetivo de estabelecer critrios comuns
de anlise. Rede-14 Programa URB-AL da Comisso Europia; Documento Base. Segurana
Cidad na Cidade; Valparaso, Chile; outubro de 2003. Disponvel em espanhol em http://
www. u r b a l v a l p a r a i s o . c l / p 4 _ u r b a l r e d 1 4 / s i t e / a r t i c / 2 0 0 3 1 1 1 9 / a s o c f i l e /
ASOCFILE120031119195112.pdf
3
DAMMERT, Luca (ed.); Segurana Cidad: Experincias e Desafios; I. Municipalidade de
Valparaso, Rede 14 Segurana Cidad na Cidade, URB-AL; Valparaso, o Chile; 2004; 377 p.
Disponvel em http://www.urbalvalparaiso.cl/p4_urbalred14/site/artic/20031119/pags/libro.html
4
DAMMERT, Luca, PAULSEN, Gustavo (eds.); Cidade e Segurana na Amrica Latina; FLACSO-
Chile, Rede 14 Segurana Cidad na Cidade, I. Municipalidade de Valparaso, URBAL; Santiago,
Chile, Srie Livros FLACSO-Chile; 2005, 230 p. Disponvel em http://www.urbalvalparaiso.cl/
p4_urbalred14/site/artic/20031119/asocfile/libro_ciudad_y_seguridad.pdf
5
DAMMERT, Luca; Preveno comunitria do delito na Amrica Latina: Discurso ou
possibilidade?, em Pessoa e Sociedade (Chile); N.1; 2005; pp.215/230.
6
DAMMERT, Luca; A construo de cidadania como estratgia para o fomento da convivncia
e a segurana; El Salvador, Seminrio permanente sobre violncia; setembro 2005. Disponvel em
http://www.violenciaelsalvador.org.sv/documentos/Dammert__El_Salvador_20051.pdf
7
DAMMERT, Luca, BAILEY John (coords.); Segurana e reforma policial nas Amricas:
experincias e desafios; o Mxico; FLACSO-Chile, as Naes Unidas-ILANUD, Sculo XXI Editores;
2005; 379p.
8
Sobre tipos de participao comunitria, seus problemas de conceitualizao e temas implicados,
ver DAMMERT, Luca; Participao comunitria em preveno do delito na Amrica Latina,
em DAMMERT, Luca (ed.); Segurana Cidad: Experincias e Desafios; op. cit.; p. 161.
9
Segundo Luca Dammert, na Amrica Latina as iniciativas de preveno comunitria
desenvolvidas se vinculam a quatro mbitos especficos: a relao polcia-comunidade aludida,
a organizao comunitria de segurana, o trabalho em espaos pblicos e a associao pblico-
privado. Ver DAMMERT, Luca; A construo de cidadania como estratgia para o fomento da
convivncia e a segurana; op. cit.; pp. 15-16.
10
Ver Enfoques participativos em DAMMERT, Luca; A construo de cidadania como estratgia
para o fomento da convivncia e a segurana; op. cit.; pp. 14-15. Sobre os enfoques participativos
e os mbitos de participao, ver tambm DAMMERT, Luca; Associao municpio-comunidade
na preveno do delito, em DAMMERT, Luca, PAULSEN, Gustavo (eds.); Cidade e segurana na
Amrica Latina; op. cit. 61/64.
Gastn Hernn Schulmeister
9 6
11
O projeto B-equal (Bradford Employment Equality Project) , em parte, financiado pelo Fundo
Social Europeu e procura o desenvolvimento de opes inovadoras para superar barreiras das
minorias tnicas ao emprego. Site na web: http://www.b-equal.com/
12
British Broadcasting Corportation (BBC). a Gr-Bretanha: Calma aps distrbios raciais,
em BBC Mundo.com, 9 de julho de 2001. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1430000/
1430199.stm
13
Calcula-se que no Reino Unido haja um milho e meio de muulmanos que vivem em diferentes
assentamentos distribudos no territrio britnico, com diferentes formas de organizao e
herana cultural. Embora exista certa crena generalizada que os muulmanos residentes no
Reino Unido chegaram ao pas a partir do sudeste asitico na dcada de 60, os antecedentes
histricos indicam que comearam a se estabelecer h mais de um sculo e que emigraram de
diferentes regies no mundo, incluindo o norte e o este da frica, Chipre, Turquia e Oriente
Mdio.
14
CRAMPHORN, Colin (2006); Chief Constables Annual Report 2005/2006; West Yorkshire
Police. Disponvel em http://www.westyorkshire.police.uk/files/docs/annualreport20052006.pdf
15
Ibid. Para mais informaes dirigir-se tambm a County Profile, na seo institucional
(About Us) no site na web da WYP: http://www.westyorkshire.police.uk/section-
item.asp?sid=2&iid=136
16
CRAMPHORN, Colin (2006); op. cit..
17
A apenas duas semanas dos episdios do 7 de julho de 2005, no dia 21 de junho entre as
12h35min e as 13h05min, trs incidentes ocorreram novamente em Londres no sistema
subterrneo ao redor das estaes Warren Street, Oval e Shepherds Bush, mais um quarto
incidente na parte superior de um London Bus na Hackney Road. MURPHY, Paul; Intelligence
and Security Committee Report into the London Terrorist Attacks on 7 July 2005. Presented to
Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty, Mai 2006. Disponvel em
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_isc_london_attacks_report.pdf
18
The House of Commons; Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July
2005; London; The Stationery Office (TSO); Mai 2006. Disponvel em http://news.bbc.co.uk/2/
shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_narrative.pdf
19
Com respeito terminologia no momento de fazer referncias ao terrorismo, no relatrio sobre
inteligncia e segurana depois dos episdios do 7/7, o mesmo refere-se ao terrorismo islamita.
Um termo utilizado pelos servios de segurana e pela polcia para descrever a ameaa de
indivduos que alegam uma justificao religiosa para o terrorismo, cuja alegao , alm disso,
rejeitada pela maioria dos muulmanos britnicos, cujos lderes se encarregam de assinalar que
o Isl no uma religio violenta. Alm disso, entre a comunidade contra-terrorista mais ampla
do governo especifica-se que a ameaa tambm referenciada como terrorismo internacional.
MURPHY, Paul; Intelligence and Security Committee Report into the London Terrorist Attacks
on 7 July 2005. Presented to Parliament by the Primer Minister by Command of Her Majesty;
Mai 2006.
20
The House of Commons; Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July
2005; op. cit.; p. 26-27.
21
Ibid.
22
Annex A: The evolution of the modern international terrorist threat, em The House of
Commons; Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005; London;
The Stationery Office (TSO); Mai 2006.
23
Muulmanos sob a lupa, BBC Mundo.com, 13 de julho de 2005. http://news.bbc.co.uk/hi/
spanish/international/newsid_4679000/4679677.stm
A participao comunitria
9 7
24
Four men held after terror raid, em BBC News, 6 March 2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/
uk_news/4777472.stm
25
Police search after terror arrest, em BBC News, 7 June 2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/
uk_news/5054466.stm
26
Os debates em torno da comunidade muulmana no Reino Unido se estenderam tambm a
discusses sobre como os polticos e os prprios lderes das comunidades deveriam responder ao
fenmeno do descontentamento entre os jovens muulmanos e sua possvel radicalizao.
27
O que motivou os atacantes?, em BBC Mundo.com, 14 de julho de 2005. http://news.bbc.co.uk/
hi/spanish/international/newsid_4682000/4682621.stm
28
A veia racista da Gr-Bretanha, em BBC Mundo.com, 5 de agosto de 2005. http://
news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/la_columna_de_miguel/newsid_4125000/4125942.stm
29
Webchat: Professor Paul Rogers, em BBC News, 18 July 2005. http://www.bbc.co.uk/leeds/
content/articles/2005/07/14/messageboard_paul_rogers_webchat_feature.shtml
30
Noite de violncia racial na G. Bretanha, em BBC Mundo.com, 8 de julho de 2001. http://
news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1428000/1428513.stm
31
No caso da Irlanda do Norte, por exemplo, a preocupao em melhorar a imagem e a
confiana da polcia perante a comunidade evidente, entre outras coisas, na criao de um
Ombudsman especial para lidar com as queixas contra a polcia (The Police Ombudsman for
Nothern Ireland). O mesmo no equivalente a um departamento de assuntos internos, mas um
interlocutor entre a sociedade e a polcia, encarregado de canalizar as denncias da populao
e que atua como um mecanismo de resoluo de controvrsias. Tal iniciativa se ocupou de temas
como a m imagem da instituio policial (e a correspondente confiana que deveria melhorar
para seu desempenho), com uma particular ateno do accountability que mostra-se til (da
mesma forma que com a canalizao de demandas no caso Bradford) ao melhoramento do
funcionamento das instituies de segurana. Para mais informaes sobre The Police Ombudsman
for Nothern Ireland , dirigir-se a seu site na web: http://www.policeombudsman.org/
32
Terceira noite de violncia racial, em BBC Mundo.com, 10 de julho de 2001. http://
news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1431000/1431319.stm
33
Inglaterra: o porqu do vero da ira, em BBC Mundo.com, 11 de dezembro de 2001. http:/
/news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1703000/1703347.stm
34
R. Unido: nova onda de violncia racial?, em BBC Mundo.com, 24 de junho de 2003. http:/
/news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3016000/3016508.stm
35
HENDERSON, N.J., DAVIS, R.C., and MERRICK, C., Community Policing: Variations on the
Western Model in the Developing World, Police Practice and Research, Vera Institute of Justice;
2003; Vol. 4, N. 3; 16 p..
36
Emblemtico de tal poltica o programa denominado The Bradford District Safer Communities
Partnership, o qual inclui uma ampla gama de aes e trabalha para reduzir o crime, o
comportamento anti-social, os problemas de abusos de drogas e do medo do crime, e para
assegurar que todas as pessoas no distrito se beneficiem do clima de segurana reinante. Para
mais informaes dirigir-se ao site na web: http://www.saferbradford.org.uk
37
Community Forums, correspondente seo Department Profiles no site na web da WYP:
http://www.westyorkshire.police.uk/section-item.asp?sid=6&iid=99
38
Ibid.
39
Ibid.
40
CALL, Charles T.; Challenges in Police Reform: Promoting Effectiveness and Accountability;
IPA Policy Report; International Peace Academy; 2004. Disponvel em http://www.ipacademy.org/
PDF_Reports/CHALLENGES_IN_POLICE.pdf
Gastn Hernn Schulmeister
9 8
41
Community Forums, no site da WYP, op. cit.
42
Luca Dammert, por exemplo, insistindo no papel mais ativo que o governo local deveria
assumir comprometido com a participao da cidadania, reconhece a participao da
comunidade nas iniciativas de preveno da violncia e a delinqncia como um pilar a ter em
mente para o formato e implementao de polticas de segurana em nvel local, fazendo com
que a comunidade se transforme em um ator decisivo no espao local. DAMMERT, Luca;
Associao municpio-comunidade na preveno do delito, em DAMMERT, Luca, PAULSEN,
Gustavo (eds.); Cidade e Segurana na Amrica Latina; op. cit.; pp. 51/83.
43
Bradford Hate Crime Alliance (BHCA) na web: http://www.hatecrimealliance.co.uk
44
GROENEWALD, Hesta and PEAKE, Gordon; Police Reform Through Community-based Policing:
Philosophy and Guidelines for Implementation; International Peace Academy (IPA) Saferworld;
New York; September 2004. Disponvel em http://www.saferworld.org.uk/images/pubdocs/
police%20reform.pdf
45
Londres: depois dos conspiradores, BBC Mundo.com, 10 de agosto de 2006. http://
news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4781000/4781927.stm
46
Police fears of threat to Muslims, em BBC News, 11 August 2006. http://news.bbc.co.uk/2/
hi/uk_news/4783099.stm
47
Questions over London terror raid, em BBC News, 10 June 2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/
uk_news/5066846.stm; Terror raid pair may sue police, em BBC News, 11 June 2006. http://
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5068500.stm
48
Counter Terrorism, seo Policy Statements, na web da WYP: http://
www.westyorkshire.police.uk/section-item.asp?sid=48&iid=1365
49
Ibid.
50
Ibid.
51
National Policing Plan Priorities 2004/07.
52
CRAMPHORN, Colin (2005); Chief Constables Annual Report 2004/2005; West Yorkshire
Police. Disponvel em http://www.westyorkshire.police.uk/files/docs/annualreport20042005.pdf
53
CRAMPHORN, Colin (2005), op. cit. p. 4.
54
Para mais informaes ver SCHULMEISTER, Gastn Hernn, A segurana segundo a viso
britnica. Um enfoque holstico para reformas no setor, Boletim do Instituto de Assuntos
Estratgicos e Assuntos Internacionais (ISIAE), Conselho Argentino para as Relaes Internacionais
(CARI), ano 9, nmero 38, abril 2006. Disponvel em http://www.cari1.org.ar/pdf/boletin30.pdf
55
WULF, Herbert; Brief 15. Security Setor Reform; Bonn (Germany); Bonn International
Center for Conversion (BICC); 2000.
56
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD); Security System Reform
and Governance; DAC Guidelines and reference Series; Paris (France); 2005.
57
BALY, Dick; Understanding and Supporting Security Sector Reform; London, United Kingdom;
Department for International Development (DFID); 2002.
58
Neste sentido, embora o presente trabalho se ocupe apenas do caso Bradford, no se pode fugir
pelo menos meno da aplicao do mesmo enfoque ao processo de reforma acontecido nos
ltimos anos na Irlanda do Norte. Ver A New Beginning: Policing in Northern Ireland. A report
of the Independent Commission on Policing for Northern Ireland; September 1999. Disponvel
em http://www.belfast.org.uk/report/fullreport.pdf
59
Na Amrica Latina, por exemplo, so recorrentes os debates sobre se preciso ampliar ou no
as misses das Foras Armadas em matria de segurana interna. Ver CA, Luca e BAILEY, John;
Reforma policial e participao militar no combate delinqncia: anlise e desafios para a
Amrica Latina; em Foras Armadas e Sociedade; FLACSO-Chile; N.1; 2005; pp.133-152.
Disponvel em http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART43622189c08b8.pdf
A participao comunitria
9 9
C
O
L
M
B
I
A
Comunicao
REFORMA POLICIAL E USO LEGTIMO DA FORA
EM UM ESTADO DE DIREITO.
UM OLHAR SOBRE A EXPERINCIA DA COLMBIA
Hugo Acero
*
1. INTRODUO
No comeo dos anos 90 do sculo passado, apenas 17 de cada
100 cidados confiavam na Polcia Nacional da Colmbia. As pesquisas e
estudos de percepo sobre o trabalho policial nessa poca, a colocavam
como uma instituio pouco comprometida com o respeito aos direitos
e liberdades dos cidados, com os procedimentos legais e com o estrito
cumprimento de seus deveres constitucionais. Alm disso, era considerada
pouco eficiente frente aos problemas de violncia e de delinqncia com
os quais naquele momento padecia o pas.
Frente a esse cenrio, o governo nacional, no ano 1992, empreendeu
um processo de reforma da polcia, sustentada em uma renovada atitude
autocrtica e vontade de mudana nos altos comandos policiais. Para isso,
o governo criou uma comisso externa, com porta-vozes importantes da
sociedade colombiana, e da qual fizeram parte oficiais destacados da
instituio policial, a qual se orientou essencialmente pela modernizao
de sua estrutura interna de acordo com as exigncias da segurana e a
convivncia cidad no padro de um pleno respeito pelo Estado Social de
Direito, consagrado na Constituio Poltica de 1991.
Parte fundamental desse processo de transio foi fazer com que
seus membros interiorizassem o respeito e a valorizao aos direitos
humanos, pela proteo das liberdades e pelo fomento da vida,
promovendo estes princpios na sua prtica profissional, atravs do uso
dos mecanismos de controle, ateno e preveno.
Tendo como padro de referncia o Estado Social de Direito que
proclama a Constituio de 1991, a polcia deve encarregar-se de preservar
a segurana cidad, entendendo esta como as condies de segurana,
salubridade e tranqilidade necessrias para o gozo dos direitos humanos
e o cumprimento dos deveres. Por conseguinte, a finalidade da polcia o
*
Socilogo, consultor internacional em temas de segurana cidad, segurana nacional, manejo
de crise e terrorismo.
100
respeito e a proteo dos direitos humanos. Todas as aes da fora
pblica policial, desde a ordem mais elementar, at o uso da fora em
situaes excepcionais, estaro ordenadas de modo a favorecer o exerccio
dos direitos humanos e o desfrute dos benefcios por eles assegurados
1
.
Como produto desse processo de reforma foram retirados da
Polcia Nacional da Colmbia mais de 10 mil membros que, por diferentes
motivos, no se adequavam aos novos requisitos de uma polcia
respeitadora dos direitos humanos e voltada para as necessidades e
confiana dos cidados da Colmbia.
O objetivo desse documento dar conta da experincia de reforma
policial, tendo como ponto de reflexo a idia do uso legtimo da fora no
modelo do Estado Social de Direito, observando detalhadamente quais
foram os limites e alcances deste conceito no mago desta prtica, ou
processo, para o qual esta apresentao se dividir em trs partes:
Inicialmente, sero apresentadas uma srie de consideraes
preliminares sobre os parmetros e princpios bsicos de atuao da polcia
em um Estado Social de Direito. Posteriormente, sero enfatizados os
aspectos mais relevantes dentro da experincia de reforma policial,
estabelecendo, dentro deste espao, as limitaes e alcances do uso
legtimo da fora na manuteno das condies necessrias para o exerccio
dos direitos e das liberdades individuais. Finalmente, sero colocados alguns
desafios e reflexes que serviro como ponto de partida ao
desenvolvimento de novos planejamentos e iniciativas neste tema.
2. SOBRE A ATUAO DA POLCIA EM UM ESTADO SOCIAL E
DEMOCRTICO DE DIREITO
Existem diversos parmetros que definem e regulam o exerccio
profissional da polcia. Esses parmetros esto definidos dentro da
Constituio Poltica da Colmbia de 1991 e nos instrumentos legais
internacionais sobre direitos humanos, os quais prevalecem para a
manuteno da ordem interna e a lei, sendo amparados pela Constituio
Nacional no seu artigo 93, como verifica-se abaixo
2
:
O respeito aos direitos das pessoas.
A observao dos procedimentos legais.
Reforma Policial e uso legtimo da fora em um Estado de Direito
101
O estrito cumprimento dos deveres
Derivados desses preceitos fundamentais, encontramos um
conjunto de princpios que regem a atuao da polcia, os quais delimitam
e orientam claramente sua atuao em relao aos cidados e a situaes
particulares, como prescreve a Organizao das Naes Unidas
3
:
Finalidade: o fim procurado pela polcia a preveno de um
fato punvel ou a deteno de um infrator. Algum tipo de desvio
dessa finalidade poderia conduzir a um uso desmedido do poder.
Necessidade: as condutas tomadas pela polcia devem
constituir-se como a nica possibilidade de ao para evitar a
realizao de um fato punvel ou dar captura a quem comete.
Adicionalmente, essas condutas devem ser as menos lesivas
possveis aos direitos das pessoas, particularmente no que se
refere ao uso da fora.
Devida motivao: refere-se explicitamente s razes que
levam polcia a atuar, as quais devem ser claras, objetivas e,
sobretudo, justificadas.
Proporcionalidade: o conjunto das medidas tomadas pela polcia
deve estar ajustado conduta da pessoa perseguida e s
circunstncias do contexto no qual se comete o fato punvel;
por isso, deve haver uma conexo direta entre a finalidade e os
meios utilizados, o que evitar o uso de medidas excessivas que
causem danos desnecessrios s pessoas ou a seus bens.
No-discriminao: todas as pessoas, sem distino de nenhum
tipo, tm os mesmos deveres e direitos e devero ser tratadas
pela polcia da mesma maneira.
Excepcionalidade do uso da fora: o uso da fora se admite
para situaes excepcionais, nas quais ou no possvel prevenir
o delito, ou se deve perseguir o infrator por outros meios.
necessrio entender que cada um desses princpios faz parte de
um todo estreitamente inter-relacionado, onde, como j havia sido
explicitado anteriormente, aparece a proteo aos direitos das pessoas
como um eixo central.
Hugo Acero
102
Tomando como ponto de partida esses conceitos, no
prosseguimento deste trabalho se far um percurso pelo processo de
reforma o qual, desde o ano 1993 a Polcia Nacional da Colmbia veio
implementando em todo o pas, comentando minuciosamente at onde
chegou e como se desenvolveu no interior desse processo a idia de uso
legtimo da fora.
3. REFORMA POLICIAL NA COLMBIA: TRANSFORMAO DE
UMA INSTITUIO PELO RESPEITO AOS DIREITOS DOS
CIDADOS
A promulgao da Constituio Poltica de 1991 marca o incio de
um novo modelo de participao cidad nas decises econmicas, polticas
e sociais da nao, direcionado a garantir a existncia de instituies pblicas
eficientes e democrticas, nas quais os usurios aparecem como legtimos
requerentes de servios e direitos.
Nesse contexto, a Polcia Nacional (tambm imersa em corrupo
e deficincia no cumprimento de suas funes, por aquela poca) assumiu
o desafio de submeter-se a um processo de autocrtica e questionamento,
tanto de seu funcionamento como do comportamento de seus
integrantes
4
, com o propsito de constituir-se em um organismo vivo
do pas, interessado na defesa do bem comum e co-participe da
transformao da realidade nacional, partindo de suas prprias
competncias de segurana e convivncia.
As exigncias da nova Constituio facilitaram a reestruturao
interna da polcia mediante a expedio da Lei 62 de 1993, e o
diagnstico da realidade institucional, permitindo a identificao dos
seguintes problemas como causadores da crise de legitimidade da
Polcia Nacional
5
:
Enfraquecimento de princpios e valores da corporao.
Gesto de comando caracterizada por ausncia de liderana.
Deficientes resultados do servio de polcia (diversificao
excessiva do servio).
Enfoque inadequado da administrao do talento humano.
Reforma Policial e uso legtimo da fora em um Estado de Direito
103
Deficincias nos processos de formao e capacitao.
Ineficazes sistemas de avaliao e acompanhamento.
Afastamento polcia-comunidade.
Violao dos direitos humanos.
Frente a esses problemas, a reforma policial se sustentou nos trs
elementos constitutivos do sistema do servio policial: indivduo, instituio
e comunidade. E a priorizao dos problemas detectados transformou-
se no insumo potencializador para a criao e implementao do Plano
de Transformao Cultural, cuja filosofia se fundamentou em:
A mudana de atitude do homem, mediante o equilbrio de suas
dimenses espiritual, intelectual, scio-afetiva e fsica, sustento de seu
prprio desenvolvimento individual e de sua construo de uma cultura
organizacional baseada no progresso tecnolgico e acomodada s
necessidades do cidado, e do meio que o cerca, para fazer mais uma
instituio produtiva e competitiva
6
.
Os programas fundamentais sobre os quais se alicerou o Plano de
Transformao Cultural foram:
Participao da comunidade.
Nova cultura do trabalho.
Fortalecimento da capacidade operativa.
Desenvolvimento gerencial.
Potenciao do conhecimento e da formao policial.
Modernizao da gesto administrativa.
7
Desde ento, a polcia no tem economizado esforos acadmicos
para, desde suas escolas, formar indivduos capazes de dar um tratamento
personalizado, com disposio ao dilogo e interao com civis, de uma
maneira essencialmente persuasiva ao invs de dissuasiva.
A modernizao de sua gesto administrativa, a formao de seus
Hugo Acero
104
membros para uma nova atitude de servio e o reconhecimento dos
cidados como a razo da existncia da instituio tm feito da Polcia
Nacional uma instituio flexvel, mais horizontal na sua organizao e
com um alto nvel de efetividade no cumprimento de suas funes de
segurana e convi vnci a, conforme as necessi dades ci dads e
institucionais. Hoje, a instituio policial goza de uma aprovao por
parte da populao prxima a 70%.
Parte fundamental dessa transformao da Polcia Nacional foi fazer
com que seus membros internalizassem o respeito e valorizao dos Direitos
Humanos, e promovessem sua vivncia em cada uma de suas aes
cotidianas, fundamentadas na proteo das liberdades e no fomento da vida.
No que tange ao uso da fora, os membros da instituio cada
vez mais sabem que seu emprego deve ser realizado com extremo
cuidado e devendo ser aquela que seja necessria e proporcional ao
perigo que se procura evitar. A esse respeito, diz o artigo 3 do cdigo
de conduta para funcionrios encarregados de fazer cumprir a lei e
combater o crime, aprovado pela assemblia geral das Naes Unidas:
Os funcionrios encarregados de fazer cumprir a lei podero usar a
fora s quando seja estritamente necessria e na medida que o requeira
o desempenho de suas tarefas
8
.
Por outro lado, o artigo 29 do Cdigo Nacional de Polcia da
Colmbia, afirma que s quando for estritamente necessrio, a polcia pode
utilizar a fora para impedir a perturbao da ordem pblica e restabelec-
la. Da mesma forma, o artigo 30 desse mesmo Cdigo consagra que para
preservar a ordem pblica a polcia s empregar os meios autorizados
pela lei e pelos regulamentos, escolhendo sempre entre os meios eficazes
disponveis, aqueles que causem um menor dano integridade das pessoas
e de seus bens. Tais meios no podero ser utilizados alm do tempo
indispensvel para a manuteno da ordem e seu restabelecimento.
Sobre esses preceitos constitucionais e legais, o processo de
transformao cultural da polcia, no que diz respeito ao uso legtimo da fora,
avanou, como o coloca Margarita Uprimny, sob os seguintes critrios
9
:
Critrio de necessidade: ser utilizada a fora apenas quando a
ordem pblica no puder ser preservada de outra maneira.
Critrio de legalidade: os meios utilizados devem estar previamente
Reforma Policial e uso legtimo da fora em um Estado de Direito
105
autorizados pela lei ou por um regulamento. Isso amostra que o
uso da fora tem limites legais e que as autoridades de polcia no
podem inventar sistemas imprevistos para atemorizar aos indivduos
ou a grupos cuja atividade deva ser reprimida.
Critrio de racionalidade: devem ser evitados os danos
desnecessrios.
Critrio de temporalidade: esses meios apenas podero ser
utilizados pelo tempo indispensvel.
Em coerncia com esses critrios, desde meados dos anos 90 foram
destinados recursos para a capacitao e a atualizao de oficiais e
suboficiais, membros do nvel executivo e agentes, em temticas como:
direitos de polcia, direitos humanos, direito internacional humanitrio,
segurana e convivncia cidad, polcia comunitria, padronizao de
procedimentos e pedagogia. Da mesma forma, e coadunado com as
polticas de ordem nacional
10
, com as diretrizes internacionais para a
proteo dos Direitos Humanos e com o Plano de Transformao Cultural,
foi criado o Escritrio de Direitos Humanos da Polcia Nacional, com suas
correspondentes instncias setoriais.
Desde ento, a Polcia Nacional tem emanado mltiplas aes de
pesquisa e educao orientadas ao conhecimento e ao bom uso do tema
por parte dos integrantes da instituio, nas suas diferentes reas de apoio
comunidade. Da mesma forma, a instituio coordenou atividades
orientadas para a defesa dos Direitos Humanos de seus membros. Nesse
mbito, foram estabelecidos convnios com as Naes Unidas, com a
Secretaria para os Direitos Humanos da Presidncia da Repblica e com
instituies acadmicas, para a realizao de pesquisas que permitam
estabelecer as condutas indevidas por parte de seu pessoal e formular
linhas de trabalho que conduzam sua melhoria.
Nos ltimos anos, a Polcia Nacional, em coordenao com
diferentes instituies, como a Defensoria do Povo, o Escritrio para os
Direitos Humanos da Presidncia e as Personeras Municipales
11
, iniciou
um amplo trabalho de indagao sobre a situao dos Direitos Humanos
no interior da instituio e no servio comunidade atravs de seus
membros. Este trabalho permitiu, por um lado, colocar em evidncia a
vontade poltica da polcia frente s exigncias de mudana, e, por outro,
Hugo Acero
106
determinar at que ponto no exerccio legtimo de suas funes
constitucionais incorreu-se em algum excesso no uso da fora ou desacato
lei, com o fim de corrigir erros e depurar cada vez mais o exerccio
profissional de seus membros.
4. CONCLUSES
O primeiro aspecto que preciso destacar que hoje a Polcia
Nacional da Colmbia uma das instituies melhor qualificadas pelos
cidados. Enquanto no ano 1992 apenas 17% dos cidados a consideravam
confivel, hoje 68% acreditam nela e, mesmo que falte muito caminho
por percorrer, a instituio policial no cessa o seu esforo para ser a
melhor instituio do pas.
Cabe ressaltar que frente aos desafios que hoje impem os
problemas de violncia e delinqncia na maioria dos pases latino-
americanos, o aprofundamento da modernizao das foras policiais,
emoldurada no compromisso com a estrita observncia aos Direitos
Humanos, constitui-se em uma necessidade inadivel caso se pretenda
dar a resposta adequada a tais desafios. Assim o considerou o governo da
Colmbia em 1993 e a Polcia Nacional, e hoje a instituio colhe os frutos
com o reconhecimento do cidado e a reduo dos indicadores de violncia
e de delinqncia, como foi o claro exemplo de Bogot nos ltimos dez
anos e Medelln nos ltimos quatro.
Quanto ao uso da fora, ficou claro para o governo e para a
instituio que deveriam existir critrios e fundamentos claros de ao
policial considerando o Estado de Direito e que isso beneficiava aos prprios
membros da fora policial que, por razes relacionadas ao servio,
encontram-se expostos diariamente a situaes nas quais provvel
cometer erros que podem resultar na perda de vidas ou na destruio de
bens ou propriedades. claro, para qualquer membro da Instituio
Policial, que seguir as regras lhes serve para estarem blindados frente a
qualquer acusao de suposto abuso de autoridade ou uso indevido da
fora. Se o policial seguir fielmente as regras de relacionamento com o
cidado, dificilmente o resultado da investigao poder assinal-lo como
responsvel por cometer uma arbitrariedade, pois se tratar de um erro
no premeditado
12
.
Reforma Policial e uso legtimo da fora em um Estado de Direito
107
Finalmente, necessrio considerar as caractersticas excepcionais
nas quais vive a Colmbia com o conflito armado interno, cuja situao faz
com que a populao civil se veja freqentemente surpreendida em meio
ao fogo cruzado e onde os critrios de uso legtimo da fora, adquirem
ainda mais importncia. Nesse tipo de conflito deve-se limitar de maneira
muito cuidadosa, a aplicao do poder de fogo e do uso da fora em
geral. Aqui se torna muito difcil e, em alguns casos, quase impossvel,
discernir entre combatentes e no combatentes, e no meio dessa situao
que a Polcia Nacional deve aprimorar ainda mais as regras no uso da fora
para guiar as operaes, minimizar erros e danos colaterais e contribuir
para evitar abusos contra a populao civil.
Os critrios de ao emoldurados no respeito aos direitos humanos
so o parmetro principal para avaliar a legitimidade das operaes da
polcia, e especialmente da Polcia Nacional. Caso ocorra uma investigao
por delitos cometidos no desenvolvimento de atos do servio, o critrio
fundamental de avaliao ser a observncia das regras estipuladas nos
tratados e nos decretos internacionais sobre o uso legtimo da fora
13
.
Finalmente, cabe destacar que os critrios de ao do uso legtimo
da fora no devem ser vistos como obstculos ou impedimentos para a
adequada execuo das operaes militares e policiais. Pelo contrrio,
devem servir como um guia e uma ajuda para todos os membros da
Polcia encarregados de velar pela vida, pela honra e pelos bens dos cidados
e das instituies democrticas.
Notas
1
UPRIMNY YPEZ, INS MARGARITA. Limites da polcia na perseguio do delito. Defensoria
do povo. Bogot 2003.
2
Artigo 93 da Constituio Poltica Nacional
3
Assemblia Geral das Naes Unidas. 17 de dezembro de 1979. Normativa e Prtica dos
Direitos Humanos para a Polcia Manual ampliado de direitos humano para a polcia.
4
POLCIA NACIONAL: A FORA DA MUDANA. Cartilha N 2. Pg.14.
5
POLCIA NACIONAL: A FORA DA MUDANA. Cartilha N 2.
6
GRUPO DE ESTRATEGISTAS PARA A MUDANA. Transformao cultural e melhoramento
institucional. Polcia Nacional. Editorial Retina. Bogot: 1995.
7
Plano de Direcionamentos Estratgicos da Polcia Nacional.
8
Ibid. UPRIMNY YPEZ, INS MARGARITA. Limites da polcia na perseguio do delito. Defensora
do povo. Bogot 2003. Pg. 25
9
Ibid., UPRIMNY YPEZ, INS MARGARITA. Limites da polcia na perseguio do delito.
Hugo Acero
108
Defensoria do povo. Bogot 2003. Pg. 33
10
A) Diretiva Presidencial No. 005 de 23 de dezembro de l991: Responsabilidades das entidades
do Estado na Estratgia Nacional Contra a Violncia. B) Diretiva Presidencial 003 de maio 3 de
l994: responsabilidades do Estado na Estratgia contra a Violncia e a Segurana da Gente. C)
Diretiva permanente MINDEFENSA 010 de 25 de maio de 1994: Reestruturao e ampliao do
Escritrio de Direitos Humanos do Ministrio da Defesa e criao das mesmas nas foras
Armadas, entre outras.
11
A Personera Municipal um rgo pblico que exerce a fiscalizao da administrao do
municpio. Como parte do Ministrio Pblico, lhe corresponde a guarda e promoo dos direitos
humanos, a proteo do interesse pblico e a vigilncia da conduta oficial de que desempenham
funes pblicas.
12
ANDRES VILLAMIZAR, Erros militares e regras de encontro, Fundao Segurana e Democracia.
Bogot, outubro 4 de 2004
13
Ibid. ANDRES VILLAMIZAR, Erros militares e regras de encontro, Fundao Segurana e
Democracia. Bogot, outubro 4 de 2004. Pg. 9
Reforma Policial e uso legtimo da fora em um Estado de Direito
109
P
E
R
U
Comunicao
ESTRATGIAS POLICIAIS PERANTE NOVAS
AMEAAS E RELAES SEGURANA PBLICA
DEFESA NACIONAL
Gustavo Gorriti*
A principal ameaa que viveu o Peru em termos de segurana pblica
e nacional foi a insurreio do Sendero Luminoso. Desde seu incio,
enganosamente simples, at o momento, no final da dcada de 1980 e
comeo de 90, quando o Sendero afirmou haver alcanado a paridade
estratgica e iniciado a etapa dirigida a conquistar o poder, o Peru viveu uma
guerra interna na qual morreram dezenas de milhares de pessoas e sofreu
uma destruio material de bilhes de dlares.
Para fins prticos, a guerra interna terminou h alguns anos. O Sendero
Luminoso mantm grupos armados em algumas regies do pas, mas o que
restou no constitui mais uma ameaa estratgica, como foi, e muito, at
fins de 1992.
Por que trazer para discusso o caso no contexto desse estudo?
Porque aquela ameaa sem precedentes no Peru ps em jogo todo tipo de
reaes e respostas por parte de um Estado confuso, que viu como
fracassavam, um aps outro, seus esforos, enquanto a situao piorava at
tornar-se quase insustentvel.
Uma vez que a polcia foi derrotada em 1982, na primeira rea em
estaqdo de emergncia (a de Ayacucho, na serra centro-sul do pas), as
Foras Armadas assumiram a tarefa contra-insurgente, pondo em prtica
as doutrinas de contra-insurgncia que haviam sido empregadas poucos
anos antes, frente s insurreies guerrilheiras na Amrica do Sul,
especialmente no Cone Sul, e que em todos os casos terminaram com a
supresso da democracia, a instaurao de ditaduras e a prtica de
atrocidades contra dezenas de milhares de pessoas.
Essa doutrina, herdada da guerre rvolutionnaire francesa,
essencialmente contrria democracia, foi aplicada no Peru, inicialmente,
nas reas provincianas onde se deu com maior fora o crescimento da
organizao maosta. Apesar do grande nmero de vtimas, (mortos,
desaparecidos, refugiados), a insurreio, alm de no ser dominada,
*
Jornalista, Diretor da rea de Segurana Cidad do Instituto de Defensa Legal.
continuou crescendo e difundindo-se por novas regies do pas.
110
O fracasso das estratgias de represso brutal causou outro efeito
colateral: a eroso paulatina da democracia peruana, jovem, precria e
frgil, que perdia regies inteiras do territrio nacional quando essas se
declaravam em emergncia e se colocavam sob controle de um comando
poltico-militar. Assim, enquanto a insurreio se expandia e fazia
metstases, tambm se expandiam paralelamente ditaduras militares
estaduais, dentro de um governo democrtico nacional. A democracia
peruana abdicava gradualmente, e cada vez mais, de seu governo e do
imprio da lei, porque simplesmente no sabia como enfrentar a
insurreio e como empregar suas prprias ferramentas de defesa.
Em fins da dcada de 1980, a situao havia se agravado
consideravelmente e as principais cidades do pas, entre as quais Lima, se
transformavam em palcos cada vez mais centrais da guerra interna. Ao
longo desses anos, as diversas foras que enfrentavam o Sendero (as Foras
Armadas, as polcias, os grupos organizados da sociedade) haviam ensaiado
diversos meios e formas de enfrentar os maostas. Uns mais cruis que
outros e alguns mais eficazes que os anteriores. O Sendero tinha perdido
o controle de alguns territrios previamente dominados (e tiranizados),
sobretudo quando os camponeses se levantaram para enfrent-los. Em
alguns casos, com a ajuda das Foras Armadas, em outros, praticamente
ss. Mas na soma total da guerra interna, o Sendero estava mais forte que
antes, controlava ou influenciava mais territrios e se preparava para variar
a clssica estratgia maosta com uma que tinha fortes elementos da
doutrina prvia do Comintern: tentar provocar o colapso do governo
desde as cidades e de sua periferia imediata.
Uma figura de suprema importncia durante toda a guerra, se fazia
agora duplamente vital. Abimael Guzmn, o Presidente Gonzalo, era
no s o lder indiscutvel do Sendero Luminoso, mas j se transformara
no mais prximo que um movimento maosta ultra-ortodoxo poderia ter
de adorao quase religiosa. Diferentemente dos casos de, por exemplo,
Stalin, Mao ou Kim Il-Sung, nos quais o chamado culto personalidade se
manifestou depois da vitria e das demonstraes de rigor, o culto
personalidade de Gonzalo foi desenvolvida durante a insurreio e cresceu
at nveis extravagantes para uma organizao marxista. No meio de
terremotos internos e de algumas purgas com mtodos copiados da
Revoluo Cultural chinesa, a posio do Presidente Gonzalo se
transformara, para os senderistas, na de profeta maior de uma religio
Estratgias policiais perante novas ameaas e
relaes Segurana PblicaDefesa Nacional
111
secular. Gonzalo, Abimael Guzmn, era a chave da vitria para seus
fiis. No s no Peru mas, eventualmente, no mundo. Para seguir as ordens
de quem chamavam o maior homem vivente sobre a face da Terra, os
senderistas no exitavam em entregar a vida, j que deviam lev-la sempre
na ponta dos dedos. No momento da morte, da suprema entrega,
talvez entre torturas atrozes, a chefia estaria com eles, em uma forma
de transporte mstico que, de alguma maneira, haviam compatibilizado
com sua convico materialista.
Uma vez que Abimael Guzmn era to importante, como guia
estratgico, mas tambm objeto de culto e de f para o Sendero, era patente
que essa sua maior fora poderia converter-se na sua maior debilidade. Era
tal a dependncia da organizao rebelde do seu lder/profeta, que sua captura
poderia representar um golpe demolidor, decisivo e neutralizador.
Isso foi, de uma ou outra maneira, compreendido pelo Estado
peruano desde os primeiros anos da guerra. Diversos grupos de
inteligncia e de operaes especiais foram criados durante esses anos
para caar Guzmn. A maioria teve nomes copiados de thrillers (o mais
popular foi Skorpio), conseguiram pressupostos especiais de operaes
ajustadas de modo a ocultar o dinheiro empregado, sem chegar perto
do lder.
O que apenas uns poucos sabiam (possivelmente no o pessoal de
operaes especiais de inteligncia) que Abimael Guzmn no podia estar
nos Andes. Sofria de uma doena chamada policitemia1, que tornava impossvel
sua permanncia nas alturas por tempo prolongado. Como tambm sofria
com problemas de pele (psorase), o mais provvel que tivesse sido forado
a viver em uma cidade, a qual, com efeito, resultou ser Lima.
Em 1989, a maioria desses grupos de inteligncia j havia fracassado.
A polcia antiterrorista, afligida pelo crescimento do senderismo em Lima,
deixou a investigao em profundidade que desenvolvia em meados dos
anos 80, concentrando-se em aes tticas: incurses noturnas para
capturar o maior nmero possvel de ativistas e interrogatrios brutais
para obter alguma informao de aproveitamento imediato. A eficincia
era medida pelo nmero de capturas.
Ento se deram duas iniciativas, quase paralelas, que buscaram
enfrentar o mesmo problema a partir de duas perspectivas, mtodos e
filosofias totalmente diferentes.
Gustavo Gorriti
112
A primeira foi a fundao do GEIN (Grupo Especial de Inteligncia),
no final de 1989. Seu idealizador e fundador foi um major da polcia
chamado Benedicto Jimnez, que via com crescente frustrao que as
aes de mano dura da Polcia, as incurses violentas, as portas quebradas
aos montes e as detenes por atacado, no solucionavam o problema,
mas o agravavam.
Jimnez reuniu um grupo pequeno de policiais e os colocou para
fazer o que lhe haviam ensinado seus mentores h anos: estudar a fundo o
senderismo, aprender a pensar como eles, conhecer sua histria em
detalhes, a dinmica de seu movimento, a sua filosofia, doutrina e estratgia.
Os outros policiais viram esse esforo com desdm e os chamaram os
caa-fantasmas. Seus chefes, vendo que no importava a Jimnez competir
por cotas de gente capturada e imveis interditados, tentaram tir-lo da
unidade. Jimnez conseguiu comunicar-se com o chefe da polcia, general
Fernando Reyes Rocha, a quem convenceu que o deixasse experimentar
seu mtodo. Tanto Reyes Rocha, como o ento ministro do Interior, Agustn
Mantilla, decidiram apoi-lo com um mnimo de recursos.
Em poucos meses de um acompanhamento paciente de vrios
suspeitos, sem deix-los saber que eram seguidos e sem efetuar uma s
deteno, Jimnez e seu pequeno grupo de policiais foram desenredando
um novelo invisvel. Finalmente, em junho de 1990, sendo ainda presidente
Alan Garca, o GEIN vasculhou vrias casas e, em uma delas, perto do
quartel-general do Exrcito, encontrou no s um tesouro documental,
mas a evidncia que Abimael Guzmn havia vivido ali at pouco tempo.
Plenamente motivados,prosseguiram com seu acompanhamento e pesquisas.
Houve, ento, uma mudana de governo. Saiu Alan Garca e Alberto
Fujimori assumiu a presidncia do o Peru no dia 28 de julho de 1990.
Fujimori j havia desenvolvido durante a campanha uma forte
dependncia em relao ao ex-capito do Exrcito, Vladimiro Montesinos.
Personagem extraordinariamente sinuoso, intrigante e carente de
escrpulos, e ao mesmo tempo audaz, Montesinos tinha uma fixao pelo
mundo da inteligncia, da espionagem e das tticas mais ameaadoras e
coercitivas para afirmar-se no poder. Ao conseguir que Fujimori o apoiasse
em todas as suas iniciativas, Montesinos procurou reorganizar o Estado
de forma tal que o Servio de Inteligncia Nacional (SIN), que ele
Estratgias policiais perante novas ameaas e
relaes Segurana PblicaDefesa Nacional
113
controlava, se transformasse na cspide da pirmide das foras de
segurana e do governo. O comando conjunto das Foras Armadas, a
Polcia, e, finalmente, o resto do Estado, se colocava sob as ordens e
dependncia do SIN.
Enquanto efetuava essas mudanas, em 1991, Montesinos buscou
ter capacidade operacional prpria, atravs de grupos de ao que estivessem
sob as ordens diretas do SIN e pudessem levar a cabo as aes que ele
estimasse convenientes. Um grupo especial foi formado com elementos
do Exrcito transferidos da Direo de Inteligncia do Exrcito (Dinte)
para o SIN. O grupo se tornaria famoso pelo seu apelido: Colina.
Durante a guerra interna, houve vrios grupos ou militares
encarregados de misses especiais, tais como assassinatos e torturas.
Mas a maioria operava no nvel zonal ou regional. Essa foi a primeira vez
que um grupo operacional com experincia nesse tipo de ao passava a
depender diretamente da chefia do SIN. Isto , da organizao ento
mais importante do Estado.
A idia de Montesinos foi a de utilizar esse grupo para todo tipo de
aes que ele estimasse necessrias. Entre elas, certamente, as dedicadas
luta contra o Sendero Luminoso. A viso de Montesinos (e certamente
a do grupo Colina) conferia grande importncia s aes de contra-terror,
eliminao de inimigos ou capacidade de faz-lo. O SIN teria a
informao e, em determinadas circunstncias, o grupo Colina atuaria
expedita e letalmente, margem da lei, mas a servio do poder, como um
grupo secreto e aterrorizante.
Entretanto, o GEIN conseguia sobreviver mudana de poder e
prosseguia com sua paciente tarefa de estudar cada documento, de seguir
as pistas j identificadas, sem ceder tentao de prender, deixando que
um suspeito os levasse a outro e este a um terceiro, todos sem dar-se
conta que eram seguidos.
Considerando que esse grupo de policiais deveria ser muito
especializado, levar a cabo um trabalho extremamente fatigante e
desgastante, alm de enfrentar um inimigo convencido de ser portador
da verdade histrica, Benedicto Jimnez promoveu o desenvolvimento
Gustavo Gorriti
114
de uma doutrina operacional que pode ser resumida nos seguintes aspectos:
O GEIN proclamava sua superioridade ideolgica e moral, uma
vez que lutava pela defesa da vida, da liberdade e da democracia.
O GEIN baseava sua superioridade no conhecimento profundo e
detalhado do inimigo. A deteno deveria efetuar-se quando a vigilncia e
o acompanhamento tivessem rendido todos seus frutos. O interrogatrio
deveria partir de um conhecimento muito maior do que o inimigo pudesse
suspeitar que se tinha dele. O conhecimento e a inteligncia faziam no s
desnecessria qualquer presso, mas a superioridade funcional e moral
do GEIN fazia com que se descartasse plenamente a tortura ou qualquer
ilegalidade.
Por essa razo, as detenes deveriam efetuar-se com rapidez e
eficincia, mas sem nenhum excesso de fora.
No final de janeiro de 1991, o GEIN interveio em uma casa na zona
residencial de Chacarilla de Estanque, trs dias depois que Abimael Guzmn
a tinha deixado. Ali, e em outro lugar invadido ao mesmo tempo,
encontrou-se outro acervo documental do Sendero, incluindo vdeos de
Guzmn e seus partidrios mais prximos. Nunca se chegara to perto
do chefe senderista.
O GEIN, como era seu procedimento, se dedicou a analisar os
documentos, enquanto continuava com a caada liderana senderista.
Mas desta vez o SIN exigiu que fosse permitido ao grupo Colina estudar
tambm a mesma documentao. O GEIN no teve outra opo seno
permit-lo.
Assim, durante algumas semanas, dois grupos com as metodologias,
doutrinas, vises da guerra, da segurana, da lei e da vida mais opostas
que se possa pensar, coabitaram dedicados, um junto ao outro, a estudar
e extrair concluses dos mesmos documentos.
Eventualmente, Jimnez expulsou o grupo Colina dos escritrios
do GEIN. Ps assim em risco sua carreira, mas seus lucros recentes lhe
permitiram salv-la. Tomou a deciso quando soube que eram espionados
pelo Colina. De qualquer forma, o estudo j havia sido realizado por ambos.
Estratgias policiais perante novas ameaas e
relaes Segurana PblicaDefesa Nacional
115
A partir desse momento, o extraordinrio a diferena de atitudes
entre dois grupos que tinham estudado o mesmo material, que possuam
parecidas misses e serviam, pelo menos em teoria, s mesmas
necessidades de segurana do Estado.
O grupo Colina fez um manual sobre o Sendero Luminoso, que
lhes valeu uma felicitao e presses para ascenses por parte do ento
presidente Fujimori. Poucos meses depois, no final de 1991, perpetraram
o massacre de Bairros Altos, um dos motivos centrais pelos quais Fujimori
foi extraditado do Chile ao Peru. Meses depois, aps o golpe de estado
de 5 de abril de 1992, seqestraram e assassinaram vrios estudantes e
um catedrtico da Universidade da Cantuta (entre vrios outros
assassinatos), como parte de uma poltica de represlias e mensagens
cpula do Sendero Luminoso.
Por sua vez, o GEIN s disparou duas vezes nesse perodo, uma
vez para o ar e outra acidentalmente, sem ferir nem bater em ningum.
Mas, no dia 12 de setembro de 1992, depois de uma longa vigilncia a
vrias casas, invadiram uma academia de bal em um distrito de classe
mdia de Lima e, no segundo andar, capturaram a Abimael Guzmn. Esse
foi o golpe mortal que destruiu o Sendero Luminoso.
O paradoxal dessa captura foi que esse grupo de policiais que atuou
dentro de uma impecvel legalidade e que teve como norte defender a
democracia, ajudou Fujimori a receber o crdito da captura e alcanasse
com isso um tremendo apoio, o que justificou seu golpe de estado e a
derrocada da democracia.
Ao mesmo tempo, o grupo Colina, de assassinos presumivelmente
sel etos, agora o que pode l evar, atravs da corrente de
responsabilidades surgida de seus crimes, Fujimori e Montesinos a
enfrentarem severas condenaes.
Por outro lado, profundamente significativo e interessante
constatar a diferena que os resultados de dois grupos com a mesma
misso de segurana do Estado, mas com filosofias, doutrinas,
metodologias e prticas completamente diferentes, podem ter, em termos
de eficcia e resultados. Essa comparao particularmente significativa
em circunstncias de luta contra o crime organizado e contra o terrorismo.
Gustavo Gorriti
116
Bem entendida, como o compreendeu o GEIN, a democracia
uma causa poderosa que ajuda a desenvolver formas superiores e altamente
eficazes de pesquisa, que cumprem plenamente a funo de proteger a
sociedade sem fraturar nem suas leis, nem seus ideais.
Nota
1
Alterao sangunea caracterizada por grande aumento da quantidade de hemcias circulantes
Estratgias policiais perante novas ameaas e
relaes Segurana PblicaDefesa Nacional
117
C
O
L
M
B
I
A
Relato Policial
RESPONSABILIDADE DA POLCIA NACIONAL NA
SEGURANA URBANA E RURAL, FRENTE AO
CONFLITO E PS-CONFLITO COLOMBIANO
Major Julio Cesar Snchez Molina
*
INTRODUO
O conflito endmico que aflige o Estado Colombiano h cinco
dcadas chegou a um momento de transio na busca da paz, sob trs
cenrios diferentes. O primeiro deles, e o mais relevante, a
desmobilizao dos paramilitares; o segundo, a negociao com o ELN; e
o terceiro, a manuteno da ofensiva para neutralizar as Farc, o que coloca
a nosso pas em uma dupla situao, pois, se por um lado o conflito
continua, de outro o ps-conflito bate s nossas portas.
Diante dessa situao, a Polcia Nacional da Colmbia assumiu
grandes responsabilidades para o sucesso dos programas de governo
destinados a exaurir o conflito interno. Entretanto, o fez sem esquecer
seu papel e sua misso constitucional e legal: a segurana cidad. E para
assumi-la com eficincia e responsabilidade nas reas urbanas e rurais do
territrio nacional, necessrio que sejam realizados planejamentos e
projees baseados em polticas, planos e estratgias. Esses, por sua vez,
devem ser derivados de permanente anlise do ambiente e da realidade
nacional, que permita encarar, de maneira slida, profissional e coordenada
com as autoridades administrativas, esses cenrios que esto marcando e
marcaro os destinos da nao colombiana.
Nesse sentido, hoje podemos afirmar que a Colmbia tem um
Corpo de Polcia consciente de sua importncia no desenvolvimento integral
da nao como gerador de mudanas e transformador de ambientes. Uma
polcia que adota, dentro de sua dinmica, o conceito de no ser apenas a
instituio encarregada da garantia da segurana e da convivncia cidad,
procurando, alm disso, contribuir eficazmente na melhoria das condies
sociais e econmicas de todos os colombianos.
O objetivo do presente documento informar parte da atividade
*
Oficial da Polcia Nacional de Colmbia, assessor do Escritrio de Gesto Institucional da
Direo Geral da Polcia Nacional
118
de planejamento realizada para definir as prioridades, imperativos e
principais estratgias que desenvolver a Polcia Nacional no prximo
quadrinio. Tem como seu ponto de partida a situao atual, derivada dos
avanos e efeitos positivos da Poltica de Segurana Democrtica e da
projeo governamental na busca do pas em paz, formulado no
documento Viso Colmbia 2019.
Nessa perspecti va, na pri mei ra parte ser real i zada uma
apresentao das caractersticas do conflito. Abordar-se-, a seguir, o
cenri o do ps-confl i to e sua i mportnci a para a insti tui o.
Posteriormente, sero indicadas as frentes de ateno institucional. O
trabalho ser finalizado com as projees e linhas de ao a serem
desenvolvidos durante o prximo quadrinio, por parte da Polcia
Nacional da Colmbia.
1. O CONFLITO COLOMBIANO:
EVOLUO E CARACTERSTICAS
O principal desafio para fortalecer a democracia e as instituies,
alcanando a segurana de todos os habitantes da Colmbia, a
superao da violncia fratricida das ltimas dcadas, gerada, na maior
parte, pelos grupos armados ilegais, sejam as FARC, o ELN ou as
autodefesas ilegais.
1.1 FARC ELN
A partir da dcada de 80 do sculo passado, as denominadas
guerrilhas (Farc-ELN) passaram de possuidoras de bases ideolgicas de
linha pr-sovitica ou maosta, influenciadas pela incidncia da Guerra Fria,
a grupos narco-terroristas que buscam manter seu aparelho armado, para
conservar os ganhos extraordinrios provenientes do narcotrfico, do
seqestro, da extorso e do saque, outorgando-lhes um oramento
superior ao de vrios pases do continente.
Durante a ltima dcada, esses grupos orientaram suas tticas
criminais para a prtica de homicdios seletivos, massacres, seqestros,
deslocamentos forados, ataques indiscriminados com explosivos contra
a populao civil, bloqueio de alimentos, impedimento do livre trnsito,
Responsabilidade da Polcia Nacional na Segurana Urbana e
Rural, frente ao Conflito e Ps-conflito Colombiano
119
assassinato de autoridades democraticamente eleitas, extorso, saque,
recrutamento forado e atos contra a populao indgena e afro-
colombiana, para manter o negcio do narcotrfico.
No entanto, a nova realidade poltica ps-Guerra Fria debilitou os
projetos insurgentes e, ao desembocar em prticas terroristas
generalizadas, anularam qualquer discurso ou plataforma poltica real e
voltada aos interesses da populao que diziam defender. A posio da
comunidade internacional a partir do 11 de setembro de 2001, frente
ameaa derivada do terrorismo, isolou os grupos guerrilheiros
colombianos, transformados e catalogados em organizaes terroristas,
como com efeito o so
1
.
Essa realidade indiscutvel tornou possvel o desenvolvimento da
poltica de Defesa e Segurana Democrtica, que no ltimo quadrinio se
traduziu em resultados importantes, como a reduo dos homicdios a
nveis que o pas no possua h 20 anos. Os massacres, o deslocamento
forado, o seqestro e os efeitos sobre a populao se reduziram
consideravelmente, a maioria deles acima de 50%, no ultimo quadrinio.
As autoridades se restabeleceram em seus lugares de trabalho, a economia
foi reativada pela segurana e pela confiana que se instaurou no pas. Sete
mil pessoas abandonaram esses grupos, voluntria e individualmente, e
aderiram aos programas de reincluso do Governo. Mais de 80% deles
apresentaram-se voluntariamente polcia.
Essa situao debilitou a estrutura e as capacidades das Farc e do
ELN. Hoje no existem grupos subversivos consolidados com influncia
regional e domnio territorial, j que se fortaleceu a Fora Pblica e a
Polcia Nacional est presente e presta seu servio permanente em todos
os municpios do pas, contando com o apoio que a maioria do povo
colombiano apresenta s polticas pblicas e aos planos do governo.
1.1 AUTODEFESAS ILEGAIS
Da mesma forma, o fenmeno do paramilitarismo irrompe no
cenrio do conflito como um terceiro elemento em discrdia. Surgiu no
ano de 1980, quando o Governo Nacional revogou a Lei n 48 de 1968,
definindo, sob um quadro de presso internacional, a ilegalidade desses
grupos. A partir deste momento, at 1991, funcionaram como ala militar
Major Julio Cesar Snchez Molina
120
do narcotrfico, de onde obtiveram sua principal fonte de renda. Em 1990,
e depois da queda de Pablo Escobar Gaviria, inicia-se um processo de
reorientao ideolgica, com a criao das Autodefesas Camponesas de
Crdoba e Urab, dirigidas por Fidel Castao Gil e Carlos Castao Gil.
Ampliaram sua ao delituosa a muitas reas do territrio nacional, graas
aos recursos do narcotrfico, do furto de combustvel, do trfico de
armas, da extorso e da contribuio de pecuaristas e fazendeiros que
estavam desprotegidos.
Afortunadamente para o povo colombiano, durante o ano de 2003,
as AUC
2
assinaram o Acordo de Santa f de Ralito, por meio do qual se
comprometeram a desmobilizar-se gradualmente, at desaparecer na
atualidade como grupo armado, mediante a desmontagem de 34
estruturas, a incorporao vida civil de 32.986 homens e mulheres, a
entrega de 12.193 armas longas, 2.733 armas curtas, 1.151 armas de
apoio, 9.105 granadas e 2.070.395 munies, entrando, dessa forma,
em um perodo de ps-conflito.
2. O PS-CONFLITO: UM CENRIO EM DESENVOLVIMENTO
A desmobilizao individual e coletiva dos grupos de autodefesa e
demais grupos armados ilegais, que superaram os 40 mil homens durante
os ltimos anos, colocou a instituio e o pas em uma situao de ps-
conflito que afeta a realidade atual e o futuro, a curto e mdio prazo. Por
esse motivo, a compreenso das caractersticas e dos fenmenos
apresentados em outros pases, como a Guatemala, a Nicargua e El
Salvador, so necessrios para a definio das polticas, planos e estratgias
que permitam resistir aos seguintes aspectos que caracterizam esse
cenrio, especialmente na sua fase inicial:
2.1 Uma elevada agitao social
Por definio, a superao de um conflito armado deve dar ateno
a problemas e necessidades urgentes dos setores mais carentes da
populao, que so, ao mesmo tempo, os mais afetados pelo conflito.
Na medida em que as respostas do governo no satisfaam essas
demandas sociais, muito alta a probabilidade que se multipliquem as
mobilizaes e os protestos.
Responsabilidade da Polcia Nacional na Segurana Urbana e
Rural, frente ao Conflito e Ps-conflito Colombiano
121
2.2 Modificao do quadro delituoso e contravencional
Mui tos ex-combatentes, no obstante os benef ci os que
recebem para sua reincluso vida civil, incorrem em condutas
punveis de carter nacional ou transnacional, para manter o status
ou a forma de vida que levavam como integrantes do grupo armado.
2.3 O impacto da desconfiana e o sentimento de dio acumulado.
gerada na comunidade uma alta desconfiana e um sentimento
de dio, e inclusive desejos de vingana, entre os afetados diretamente
pela ao dos grupos armados e terroristas, quando identificada a
figura do ex-combatente a quem se atribui a autoria de um atentado ou
de um delito anterior no contexto do conflito.
Frente a essas caractersticas de um cenrio de ps-conflito,
representa um verdadeiro desafio, para a reconstruo e a reconciliao,
que sej a poss vel resol ver os probl emas subj acentes, l i mi tar a
desconfiana e desmontar o dio e o sentimento de vingana. um
empreendimento de pedagogia e de ateno oportuna comunidade,
onde a Polcia Nacional tem uma funo importante. Mas a polcia no
a nica instituio chamada a trabalhar nesse sentido, pois se requer o
esforo coletivo de toda a sociedade colombiana, liderada pelas
autoridades, nos diferentes nveis da administrao.
No que diz respeito Instituio Policial, claro que as redes de
colaboradores, as Escolas de Segurana Cidad, as Frentes de Segurana
Local e todo o campo de ao do modelo de Polcia Comunitria,
constituem-se em avanos importantes para o ps-conflito, na medida
em que esto sendo aliceradas as bases para a reconciliao e a
construo do novo pas, a partir da cooperao, da tolerncia e da
soluo de problemas cotidianos que, de outra maneira, poderiam ser
geradores de violncia.
3. FRENTES DE RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
3
Para lidar com a questo da violncia e dos diferentes problemas
de ndole criminal e contravencional nas ltimas dcadas, a Polcia Nacional
evoluiu de maneira eficiente atravs de suas direes especializadas,
Major Julio Cesar Snchez Molina
122
que lhe permitiram assumir seu papel contra as organizaes narco-
terroristas, sem abandonar, descuidar ou desprezar o servio bsico
policial, razo pela qual a instituio deve atender a trs grandes frentes
de responsabilidade:
3.1 A segurana cidad
Esse o servio bsico, ou essencial, que atende no que se refere
vigilncia, preveno, ao contra o delito comum e ao trabalho
comuni tri o, que caracteri za qual quer corpo de pol ci a,
independentemente do pas em que atue, para garantir um clima de
convivncia aceitvel, a vigncia das normas, o desfrute dos direitos e
o cumprimento dos deveres por parte dos cidados.
3.2 O conflito
Junto com as Foras Militares, a polcia atua nos planos e na
poltica governamental para neutralizar as organizaes terroristas
(entendendo que aqueles que a promovem tm uma ativa participao
em atividades delituosas prprias do crime organizado, como o
narcotrfico e o trfico de armas, entre outros). Esse campo de ao
prioritrio no desenvolvimento da Poltica de Segurana Democrtica.
3.3 O crime transnacional
Essa uma situao prpria da ltima dcada, produto da
evoluo do delito e da globalizao, em que crime organizado,
principalmente associado ao narcotrfico e ao trfico de armas,
estruturou verdadeiras multinacionais do crime, que se constituem
em um desafio para os corpos de polcia e organismos de pesquisa
criminal.
Esses trs mbitos de responsabilidade materializam-se em uma
diversidade de servios e atuaes, tornando complexa a funo policial
e a capacitao dos funcionrios, pois devem atuar, ao mesmo tempo,
no servio bsico da preveno e em tarefas de choque, a cargo de
grupos elite, da mesma forma que em procedimentos em nvel nacional
e internacional, frente s organizaes delituosas que transcendem as
fronteiras do pas.
Responsabilidade da Polcia Nacional na Segurana Urbana e
Rural, frente ao Conflito e Ps-conflito Colombiano
123
4. PROJEES E LINHAS DE AO A SEREM DESENVOLVIDOS
DURANTE O PRXIMO QUADRINIO
4.1 VISO COLMBIA 2019
O Departamento Nacional de Planejamento, em cumprimento s
polticas de governo, desenvolveu um trabalho prospectivo de
planejamento, denominado Viso Colmbia II Centenrio: 2019, cujo
objetivo servir como ponto de partida para pensar o pas que todos os
colombianos desejam ter para o momento da comemorao do segundo
centenrio de vida poltica independente, a ser celebrado no dia 7 de
agosto de 2019.
Nesse documento apresenta-se uma completa radiografia sobre
aspectos do passado, sobre perspectivas futuras e sobre o que deve ser
realizado para obter os melhores resultados no perodo compreendido
entre os anos de 2005 e 2019, no qual se projeta um pas sustentado nos
princpios de liberdade, tolerncia, fraternidade, incluso e igualdade de
oportunidades.
4.1.1 Os objetivos
Os quatro grandes objetivos da Colmbia at o ano 2019 devem ser:
Primeiro: uma economia eficiente, que garanta um
maior bem-estar social;
Segundo: ter uma sociedade mais igualitria e solidria;
Terceiro: contar com um Estado eficiente, a servio
dos cidados;
Quarto: ser uma sociedade de cidados livres e
responsveis.
4.1.2 Um pas em paz
Para o desenvolvimento do quarto grande objetivo, que o de ser
uma sociedade de cidados livres e responsveis, h quatro estratgias:
ter um pas em paz, uma sociedade melhor informada, uma democracia
consolidada e uma justia eficiente.
Major Julio Cesar Snchez Molina
124
Com a finalidade de ter um pas em paz, devem ser alcanados
avanos substanciais nos seguintes aspectos, relacionados com a Polcia
Nacional: ampliar a cobertura do efetivo da fora policial, superar os
problemas de direitos humanos e eliminar as atividades relacionadas com
o narcotrfico.
4.2 PRIORIDADES E LINHAS DE AO A SEREM DESENVOLVIDOS
PELA POLCIA NACIONAL PARA O QUADRINIO
4
A partir da prospectiva governamental para 2019, das necessidades
do ps-conflito e da ateno permanente dos objetivos da polcia a longo
prazo, projetou-se um aumento adicional do efetivo em 20 mil homens
para o prximo quadrinio, o que permitir o fortalecimento da vigilncia
urbana e rural, bem como o aumento das unidades dedicadas inteligncia
e investigao criminal nacional e internacional.
4.2.1 NO MBITO URBANO
Frente responsabilidade da instituio nas reas urbanas do
territrio nacional, foram desenvolvidas, e se encontram em construo,
vrias estratgias, modelos e melhores prticas sobre polticas pblicas
de convivncia e segurana cidad. Destinam-se preveno, observao
e controle de comportamentos geradores de violncia e delinqncia,
como conseqncia do ps-conflito e do acelerado crescimento da
populao nas capitais, razo pela qual se determinou a seguinte linha de
ao e prioridades:
PRIORIDADES A SEREM
DESENVOVIDAS
Implementar a Direo de Segurana
Cidad
Fortalecer a segurana cidad como base
fundamental da misso institucional
Implementar o modelo de Vigilncia
Comunitria
Implementar a vigilncia por quadrantes
nas principais cidades do pas
OBJETIVO
ESTRATGICO
ASSEGURAR O
SERVIO DE POLCIA
NO TERRITRIO
NACIONAL
Responsabilidade da Polcia Nacional na Segurana Urbana e
Rural, frente ao Conflito e Ps-conflito Colombiano
125
Otimizar a proteo das reas produtivas
e infra-estrutura de vias, portos e
aeroportos
Fortalecer a polcia especial (Polcia de
Menores, de Trnsito, Ambiental e
Ecolgica)
Aumentar a cobertura da rede viria
nacional primria
Assumir o controle do trnsito urbano nas
capitais
Posicionar como poltica de Estado a
Gesto Territorial da Segurana Cidad,
atravs do programa Departamentos e
Municpios Seguros (DMS )
Promover a participao efetiva da
cidadania nos processos de convivncia e
segurana cidad (frentes de segurana,
escolas de segurana, redes comunitrias
virias, redes de apoio e comunicaes,
redes de apoio e solidariedade e redes de
colaboradores)
Fortalecer a ao coordenada entre polcia
e vigilncia privada para a melhoria dos
CONSOLIDAR UM
AMBIENTE DE
CONVIVNCIA E
CONFIANA
CIDAD, MEDIANTE
A INTEGRAO DE
COMUNIDADE,
AUTORIDADES E
POLCIA
CONSOLIDAR A
AO POLICIAL
PARA NEUTRALIZAR
A DELINQNCIA
COMUM E
ORGANIZADA E
CONTRIBUIR PARA
ELIMINAR OS
GRUPOS ARMADOS
ILEGAIS
nveis de segurana
Reduzir os ndices de criminalidade que
afetam a Segurana Cidad
Reduzir os ndices de criminalidade que
afetam a Segurana Democrtica
Planejar, desenvolver e ajustar a matriz
operacional para a vigncia 2007 - 2010
Major Julio Cesar Snchez Molina
126
4.1.1 NO MBITO RURAL
A viso de Estado que se confere ao ano 2019, segundo centenrio
da independncia nacional, projeta um pas com nfase no aproveitamento
das potencialidades do campo e com um setor agropecurio que ser um
motor do crescimento, o qual requer a presena ativa e permanente do
Estado. Para isso, a Polcia Nacional contribuir com a prestao de um
adequado servio nas reas rurais, que estar dirigido proteo da
atividade agrria e formao e consolidao do tecido social nessas
comunidades, mediante um trabalho preventivo e de assistncia ao
campons, desenvolvido pela Vigilncia Comunitria Rural.
PRIORIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Implementar a direo dos Carabineros e
Segurana Rural
Ampliar a cobertura e consolidar o servio de
polcia em Corregedorias, Inspees, Zonas
Estratgicas, Zonas de Fronteira, Reservas e
Parques Naturais
Ampliar os grupos operacionais e especialidades
que atuam em reas rurais
Proporcionar segurana populao camponesa
Atender as zonas de desmobilizao
Confrontar faces criminais
4.1.1 CAMPOS TRANSVERSAIS DE INTERESSE QUE CONTRIBUEM
PARA A SEGURANA URBANA E RURAL
Fortalecimento do servio de inteligncia, especialmente em nvel
regional, para aumentar a capacidade de coleta de informao e atender
de forma mais oportuna s necessidades das Direes Operacionais e
OBJETIVO
ESTRATGICO
CONSOLIDAR O
SERVIO DE
POLCIA NAS
REAS RURAIS
DO TERRITRIO
NACIONAL
dos Comandos de Departamento.
Responsabilidade da Polcia Nacional na Segurana Urbana e
Rural, frente ao Conflito e Ps-conflito Colombiano
127
Fortalecimento da Polcia Judiciria como fator essencial no s da
luta contra a criminalidade transnacional, mas tambm em nvel nacional,
frente implementao do novo Sistema Penal Acusatrio.
Ao frontal contra o crime organizado. A Polcia Nacional mantm
a liderana que lhe caracterizou nas ltimas dcadas na luta contra o
narcotrfico. Nesse sentido, aumentam as aes contra as organizaes
emergentes do narcotrfico. As normas de extino de domnio foram
aplicadas de forma efetiva, mas necessrio um esforo contundente
que permita afetar de maneira estrutural essa problemtica e os grupos
narco-terroristas que se valem dessa fonte de financiamento para seguir
em conflito. E para alcanar tal intento, devem ser desenvolvidas as
seguintes prioridades:
PRIORIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Atacar o narcotrfico em todas as suas
manifestaes
Eliminar de maneira definitiva os cultivos ilcitos.
Destruir a infra-estrutura de laboratrios e pistas
Incrementar as operaes de interdio,
erradicao e preveno
Atacar o comrcio internacional de drogas
mediante coordenao e operaes
transnacionais.
Incrementar as aes de extino de domnio
aos bens oriundos do narcotrfico.
Eliminar 100% dos estabelecimentos e locais de
distribuio de drogas ilcitas em menor escala
OBJETIVO
ESTRATGICO
AES
DEFINITIVAS
CONTRA O
NARCOTRFICO
(vendedores a varejo, andarilhos e outros).
Desmembrar as organizaes dedicadas ao
narcotrfico.
Major Julio Cesar Snchez Molina
128
Notas
1
Mayor CIRO CARVAJAL CARVAJAL, La Polica Nacional en el Post- Conflicto, artculo Revista de
Criminalidad Polica Nacional de Colombia, 2004 / artigo Revista de Criminalidade. Polcia
Nacional da Colmbia.
2
Autodefesas Unidas da Colmbia
3
MY. MARTHA FRANCISCA ALVAREZ BUITRAGO, MY. CIRO CARVAJAL CARVAJAL, MY. LUCY
MARIELA LEMUS MURCIA, Ensaio Cambio Cultural de la Polica en el Postconflicto, Escola de
Estudos Superiores de Polcia, Especializao em segurana, 2005.
4
Projeto Plano Estratgico Institucional 2007-2010, Polcia Nacional.
Responsabilidade da Polcia Nacional na Segurana Urbana e
Rural, frente ao Conflito e Ps-conflito Colombiano
129
M
X
I
C
O
Relato Policial
TRFICO DE SERES HUMANOS
Juan Sonoqui Martinez
*
TRFICO DE PESSOAS MENORES DE IDADE.
Campanha para funcionrios dos postos policiais, com a qual se
pretende informar sobre os problemas que esto afetando muitas
crianas e adolescentes que atravessam as fronteiras de nosso pas: o
trfico e a explorao sexual comercial de pessoas menores de idade.
Como parte desta campanha, tem-se elaborado uma srie de
informaes dirigidas a: agentes de migrao, grupos Beta, Polcia
Ministerial, Polcia Municipal, Polcia Federal Preventiva e
agentes do Ministrio Pblico, com a finalidade de contar com a
colaborao na proteo das pessoas menores de idade que entram e
saem do pas.
Embora seja certo que uma maioria das pessoas menores de 18
anos que atravessam as fronteiras, o faam em companhia de suas
famlias por motivos tursticos, de trabalho ou buscando melhores
condies de vida, tambm certo que levam-se muitas outras crianas
e adolescentes de um pas a outro com o propsito de explor-los,
sendo, desta forma, vtimas do crime de trfico de pessoas.
As pessoas que cometem este crime chamam-se traficantes
1
, e se
valem de muitos meios para captar as vtimas, como, por exemplo: a ameaa,
o abuso da fora, o seqestro, o fraude, o engano e o abuso de poder.
No caso de pessoas menores de idade, embora nenhum destes
meios seja utilizado diretamente, apenas o fato de lev-las de um lugar
a outro com fins de explorao considerado trfico de pessoas. Em
muitos casos, utiliza-se o pagamento ou outorgar benefcios para
conseguir o consentimento ou autorizao da pessoa que exerce o
controle sobre a criana ou adolescente (por exemplo, seu pai ou sua
me).
Independentemente do meio utilizado para captar a criana ou
adolescente ou de contar com seu consentimento para ser trasladado(a)
*
Direo Geral de Segurana Pblica e Trnsito Municipal na Cidade do Mxico
130
a outra regio ou pas, os propsitos de explorao a convertem em
uma atividade criminosa que viola os direitos das pessoas menores de
idade que tm sido vtimas dela.
Os propsitos da explorao do trfico de pessoas podem se
manifestar em quaisquer das seguintes formas:
Explorao sexual comercial
Explorao laboral
Venda e adoo ilegal
Extrao de rgos
Escravido ou qualquer prtica semelhante
escravido
Matrimnios servis
POR QUE EXISTE O TRFICO DE PESSOAS?
Causas:
o desenvolvimento econmico desigual de certas
regies e pases;
a procura de mo de obra barata ou dcil para que
realize trabalhos perigosos ou em condies inumanas;
o aumento da indstria baseada na venda de sexo;
a existncia de pessoas intermedirias e de redes
muito organizadas, que tm feito desta modalidade de
trfico uma atividade que proporciona mltiplos ganhos
econmicos;
a inexistncia ou a falta de sanes penais adequadas
para os traficantes.
Fatores de risco:
pelas condies de pobreza extrema em que vivem
muitas pessoas e a falta de polticas sociais dirigidas a toda
Trfico de seres humanos
131
a populao;
pelos conflitos polticos e guerras que vivem alguns
pases;
pelas poucas oportunidades educativas;
pela falta de proteo que vivenciam muitas pessoas
menores de i dade por parte de suas f am l i as,
comunidades e instituies pblicas;
pelos desastres naturais, que promovem a migrao;
pelo abuso e a violncia que experimentam em seus
lares.
Os traficantes se aproveitam das situaes negativas (fatores de
risco) que afetam a muitas crianas e adolescentes, para engan-los(as)
oferecendo melhores condies de vida em outra regio ou pas. No
entanto, quando as vtimas chegam a seu destino, se do conta da
situao de explorao e abuso na qual tem sido envolvidas.
Evidentemente, as pessoas menores de idade que tem sido
v ti mas de trfioco de pessoas se enfrentam com uma sri e de
conseqncias negativas em suas vidas, dentre as quais podemos citar:
o afastamento de suas famlias e escolas, o encarceramento ou
isolamento, o abuso fsico, emocional e sexual, os quais danificam sua
integridade como pessoas, ou que mesmo podem provocar sua morte.
Devido s conseqncias to severas que vivem as vtimas de
trata, queremos detectar possveis vtimas e tratantes e, por sua vez,
evitar que mais crianas e adolescentes sejam submetidos(as) a
situaes de explorao. Para poder realizar esta tarefa, fazemos uma
chamada a funcionrios(as) como voc, j que com seu trabalho, voc
pode colaborar nesta misso:
protegendo as pessoas menores de idade, atravs
do controle efetivo de suas entradas e sadas do pas;
denunciando os atos criminosos que cometem as
pessoas tratantes, com o fim de possibilitar sua sano.
Juan Sonoqui Martinez
132
TRFICO DE PESSOAS COM FINS DE EXPLORAO SEXUAL
COMERCIAL
A utilizao de uma criana ou adolescente para
manter relaes ou realizar atos sexuais.
A utilizao de uma pessoa menor de idade para
material pornogrfico infantil: fotos, vdeos, filmes, etc.
A utilizao de crianas ou adolescentes em
espetculos sexuais pblicos ou privados, que se
realizam em clubes noturnos, festas, entre outros.
Modalidades ou formas em que se d a EXPLORAO SEXUAL
COMERCIAL:
explorao por parte de pessoas locais: pessoas do
mesmo pas (podem ser nativass ou residentes);
explorao por turistas sexuais: pessoas estrangeiras
ou turistas que aproveitam sua visita ao pas para
realizar atividades sexuais comerciais com pessoas
menores de idade;
trfico de pessoas: que ocorre quando uma pessoa
menor de idade trasladada de uma regio a outra, ou
de um pas a outro, com o fim de explor-la
sexualmente;
distribuio de pornografia infantil atravs da Internet
ou de qualquer outro meio.
Os responsveis diretos ou culpados da explorao sexual comercial
so as pessoas exploradoras, dentre as que se encontram:
clientes-exploradores: so as pessoas que pagam
para realizar atividades sexuais com crianas e
adolescentes, podem ser de qualquer nacionalidade,
idade, profisso e classe social;
proxenetas;
intermedirios;
Trfico de seres humanos
133
pessoas indiretamente.
O certo que as pessoas exploradoras se aproveitam das
condi es de pobreza, abuso, vi ol nci a i ntra-fami l i ar, poucas
oportunidades educacionais, marginalizao e excluso social em que
vivem muitas crianas e adolescentes, para submet-los(as) a situaes
de explorao.
No verdade que as vtimas de explorao sexual e comercial
estejam nessa atividade porque querem, porque
gostem e que se no fosse assim fariam outra coisa;
levem uma vida fcil e alegre;
ganhem muito dinheiro;
sejam pessoas perversas, promiscuas e sedutoras.
verdade que...
as vtimas no escolheram essa atividade, so
envolvidas por pessoas inescrupulosas, que se
aproveitam de suas necessidades econmicas;
nenhuma pessoa menor de idade pode consentir ou
autorizar sua explorao;
nenhuma pessoa gosta de ser abusada;
a maior parte do dinheiro que recebem deixada
para seus proxenetas e para as pessoas intermedirias;
as vtimas no perdem seus valores morais,
simplesmente vem desrespeitados seus direitos
humanos.
As pessoas menores de idade que so utilizadas na explorao sexual
comercial sofrem muitas conseqncias negativas em suas vidas, tais como:
gravidez no desejada, infeces transmitidfas sexualmente, HIV-AIDS,
agresses fsicas e emocionais, envolvimento com drogas, humilhaes,
baixa auto-estima, sentem-se culpados pelo que lhes acontece e no
encontram uma sada para o problema.
Juan Sonoqui Martinez
134
DIFERENAS ENTRE O TRFICO ILCITO DE MIGRANTES E O
TRFICO DE PESSOAS MENORES DE IDADE
Trfico de pessoas menores de idade
Trfico ilcito de imigrantes
Trfico de pessoas:
os deslocamentos podem ser legais ou ilegais;
utiliza-se documentos originais ou falsos;
a pessoa tratante busca ganhar atravs do traslado de
uma pessoa com fins de explorao;
obriga-se ou engana-se a vtima, no h consentimento;
restringe-se ou limita-se o movimento da vtima com
o fim de submet-la a explorao;
o bem comercial a pessoa;
comete-se um crime contra a pessoa vtima de trata.
Trfico ilcito de imigrantes:
pode-se utilizar ou no documentos falsos;
supe atravessar irregularmente as fronteiras, os
deslocamentos podem ser feitos por lugares no
autorizados;
o traficante busca ganhar dinheiro ou algum outro
benefcio possibilitando que uma pessoa atravesse a
fronteira sem os documentos e procedimentos
requeridos por lei;
o traslado voluntrio, h consentimento da vtima;
no h restrio de movimentos (na maioria dos casos
o trfico termina ao se atravessar a fronteira);
o bem comercial o servio de atravessar a fronteira;
comete-se um delito contra o Estado.
Trfico de seres humanos
135
Aspectos em comum do Trfico de Pessoas e do Trfico Ilcito de
Imigrantes:
so atividades criminosas de acordo com os
instrumentos de direito internacional;
so cometidos por grupos muito organizados de
traficantes;
envolvem um comrcio com seres humanos.
Pessoas que intervm em uma situao de Trfico de Pessoas e
Trfico Ilcito de imigrantes
No Trfico de Pessoas e no Trfico Ilcito de Imigrantes h
interveno de muitas pessoas, que formam redes e grupos criminosos
muito organizados, compostos por:
uma pessoa recrutadora;
uma pessoa responsvel por transladar a criana ou
adolescente ou por lhe facilitar o transporte;
as pessoas exploradoras.
O PAPEL DOS CORPOS POLICIAIS DIANTE DO TRFICO E A
EXPLORAO SEXUAL COMERCIAL DE PESSOAS MENORES DE
IDADE
Situaes para prestar ateno:
Os exemplos que se descrevem a seguir so indicadores de uma
possvel situao de trfico de pessoas, de imigrao ilegal ou explorao
sexual comercial.
a criana ou adolescente viaja;
apresenta documentos falsos;
a criana ou adolescente se mostra temeroso;
a pessoa que tenta atravessar fronteira;
Juan Sonoqui Martinez
136
ao realizar a revista de um meio de transporte;
em um caminho, nibus, carro, ao fazer a revista
da bagagem, apreende-se material que contem
pornografia infantil ou adolescente (revistas, vdeos,
entre outros).
Deteco de uma situao de trfico de pessoas
Ao detectar uma ou vrias das situaes anteriores, se houver
uma pessoa menor de idade envolvida, recomenda-se fazer uma pequena
entrevista com a criana ou adolescente e com a pessoa que a
acompanha.
Se for detectado um caso de pornografia infantil ou adolescente
ou se detecta uma pessoa que est sendo buscada pela INTERPOL,
imediatamente se poder proceder a apresentar a denncia diante das
autoridades do Ministrio Pblico de forma tal que iniciem o processo
de investigao.
Entrevista com a pessoa menor de idade:
deve ser entrevistada;
buscar uma sala;
apresente-se como um agente policial;
esclarea que no deve se atemorizar;
indague;
evite advertir;
agradea sua colaborao ao outorgar a informao.
Entrevista com a pessoa que acompanha ou translada a criana ou
adolescente:
indague.
Ao conversar com a pessoa, que fazer no caso de detectar uma
situao de trfico ou de explorao sexual comercial?
Trfico de seres humanos
137
informe sobre a situao encontrada a seu chefe;
comunique-se imediatamente com a instituio
encarregada, garanta segurana e proteo;
escute a opinio da vtima e mantenha a mesma
informada;
leve em conta que uma pessoa menor de idade;
se em um registro ou sistema de informao, a pessoa
adulta aparece como procurada por proxenetismo,
trfico, ou abuso sexual em outro pas, comunique-se
imediatamente com Interpol.
Algumas outras medidas que podem tomar os corpos policiais:
estabelecer registros ou sistemas de informao;
elaborar registros de crianas e adolescentes
perdidos. Botar as lminas ou materiais de informao
(advertncia);
incluir nos formulrios de migrao;
definir e acordar, enquanto repartio, alguns
procedimentos.
CDIGO PENAL FEDERAL.
Corrupo de menores e incapazes. Pornografia
infantil e prostituio sexual de menores.
Artigo 201.- Ao autor deste crime, lhe ser aplicada a
pena de cinco a dez anos de priso e de quinhentos a
dois mil dias de multa.
TRFICO DE PESSOAS E LENOCNIO.
Artigo 206.- O lenocnio ser sancionado com priso
de dois a nove anos e de cinqenta a quinhentos dias
multa.
Juan Sonoqui Martinez
138
CDIGO PENAL DO ESTADO DO MXICO.
CORRUPO DE MENORES.
Artigo 205.- Ser imposta uma pena de cinco a dez
anos de priso e quinhentos a dois mil dias de multa.
LENOCNIO E TRFICO DE PESSOAS.
Artigo 209 Ser imposta uma pena de dois a cinco
anos de priso e de cinqenta a trezentos dias de multa.
TRAFICO DE MENORES.
Artigo 219.- Ser imposta uma pena de trs a dez anos
de priso e de cinqenta a quatrocentos dias de multa.
EXPLORAO DE PESSOAS.
Artigo 220.- Ser imposta uma pena de um a trs
anos de priso e trinta a cem dias de multa.
Trfico de seres humanos
139
V
E
N
E
Z
U
E
L
A
Relato Policial
CASO: EVITAR UM LINCHAMENTO. UM ASSUNTO
DE CONFIANA
Delegado Jorge Sar
*
INTRODUO
Para o Instituto Autnomo Polcia do Municpio de San Francisco,
coloquialmente conhecido como POLISUR, o conceito de Comunidade
assumido como um Ecossistema Social.
Por que um Ecossistema Social?
Simplesmente porque um meio onde convivem os cidados em
nossa comunidade, constituda pelos cidados que a habitam com
diversidade de interesses e requerimentos, interagindo conjuntamente
com a polica em funo de uma melhor qualidade de vida para os cidados.
UM POUCO DE HISTRIA.
Quando, em 1996, foi criado o Municpio de San Francisco, no
Estado Zulia, Oeste da Venezuela, existia uma comunidade dispersa de
uns 300 mil habitantes em uma superfcie de 164,7 Km, que subsistia
mediante uma agricultura incipiente, baseada na produo de legumes e
verduras em caniadas e canteiros.
Simultaneamente criao do Municpio nasceu tambm, em 14 de
dezembro de 1996, o Instituto Autnomo Polcia do Municpio de San
Francisco (POLISUR). No incio, dispnhamos unicamente de duas
patrulhas para oferecer segurana a este povoado, em meio a natural
desconfiana da mesma com relao Polcia, j que recebia a adequada
capacidade de resposta.
Em virtude de que tnhamos que depender como municpio de
outras corporaes policiais para cobrir todos os aspectos operacionais,
o Delegado Biagio Parisi Diretor-Fundador do Polisur decidiu formar
uma polcia integral que pudesse cobrir os aspectos de preveno de
* Comissrio, Chefe da Diviso de Patrulhamento, Policia Municipal de San Francisco. Maracaibo.
Estado Zulia
140
delito, segurana em geral, aparato e viao, para no depender de outras
corporaes especializadas em nossas operaes, simplificando e agilizando
desta forma os procedimentos. Precisamente nisto radicava a urgncia em
criar esse oficial integral. Esta nova concepo, ao ampliar as faculdades e
competncias de nossos recursos humanos, nos levou ao que poderamos
chamar de globalizao das atividades operacionais da polcia.
Devo indicar que previamente foram estabelecidos compromissos
com as comunidades, com o objetivo de que se integrassem s atividades
de nossa polica. Esta forma de participao foi a base do que lhes defini h
pouco como Ecossistema Social.
Feito este breve, mas necessrio marco introdutrio, eu vou lhes
apresentar o caso descrito no resumo que aparece no trabalho e a
metodologia operacional que foi seguida para resolv-lo com sucesso.
apresentado um caso onde mostrada uma estreita interao entre
a Polcia e a Comunidade. Isto foi possvel devido a trs aspectos
fundamentais: confiana, credibilidade e respeito, fatores que permitem uma
retroalimentao mtua, chave para os aspectos operacionais.
Especificamente, trata-se de uma pessoa que tinha incorrido em uma
violao e tinha se refugiado em uma moradia, j que seria linchado pela
Comunidade. Esta tratou de fazer presso ao querer incendiar o imvel
para obrigar o estuprador a sair e assim poder fazer justia com as prprias
mos, reao gerada pela perda de credibilidade do cidado diante do sistema
judicial existente.
Referimo-nos ao caso em que agiram trs oficiais, os quais, utilizando
o dilogo como um dos nveis mais baixos na aplicao do uso progressivo
de fora, persuadiram um grupo de 20 a 30 pessoas, e conseguiram resgatar
o infrator e convencer a Comunidade de que seria feita a justia que o caso
merecia. Esta confiana foi factvel graas ao que ns chamamos familiarmente
de fatores de sucesso do POLISUR e que abarcam cinco itens fundamentais,
que por sua vez foram subdivididos.
GERAR CONFIANA
uma gesto incorruptvel e acessvel.
capacidade de resposta rpida.
Caso: Evitar um linchamento. Um assunto de confiana
141
comunicao transparente.
coerncia na ao
EDUCANDO
cursos curtos ou oficinas de interesse para a
comunidade e para a polcia.
ATUANDO
estrito apego lei.
uso adequado da fora
cumprir os compromissos assumidos
discricionariedade a favor da comunidade
proteo irrestrita fonte de informao.
FORMAO POLICIAL
alto nvel de profissionalismo
clara poltica de uso da fora
valores ticos e comportamentos que os qualificam
como modeladores de conduta.
PROCEDIMENTO
contatos com grupos de vizinhos organizados
instruo em tcnicas bsicas de inteligncia
elaborao de planos conjuntos de trabalho
Os aspectos anteriores foram complementados com: 1) Um efetivo
sistema de patrulhamento, que permite uma rpida capacidade de resposta
frente a qualquer denncia; 2) Confiana da polcia em relao comunidade
e vice-versa, sendo estabelecida uma verdadeira interao, onde ambas
as partes participam como atores, e 3) A imagem de que goza o Polisur
como garantidor dos direitos e garantias dos cidados. Tudo isso como
Delegado Jorge Sara
142
resultado de uma srie de fatores gerados pela poltica aberta que o Polisur
aplica, baseada em seu lema Para ns primeiro vem voc.
Tudo o que foi apresentado anteriormente se materializou porque
a aplicao do Espectro de Uso Progressivo de Fora nasceu na Venezuela
com o Instituto Autnomo Polcia do Municpio San Francisco (POLISUR)
e outros corpos policiais copiaram nosso modelo, mas este no praticado
com o nvel de sistematizao que prevaleceu em nossa polcia.
Outro aspecto muito significativo o acompanhamento que o
supervisor faz de cada procedimento mediante interrogatrio de
testemunhas, vizinhos, observadores e outros atores envolvidos, com
objetivo de determinar se a comisso encarregada do caso aplicou o nvel
de fora requerido que essa circunstncia especfica merecia.
Por outro lado, nossos procedimentos sempre esto ajustados a
um absoluto respeito aos direitos humanos, aspecto importante que
devem levar em considerao todos os nossos oficiais em seus
procedimentos operacionais, independentemente de a pessoa ser
delinqente.
Isto nos obriga a garantir ao infrator a sua integridade fsica. Devido
s aes que a comunidade podia tomar contra ele, foi fundamental o uso
progressivo da fora, que no caso que estamos apresentando foi aplicado
em um de seus nveis mais baixos, especificamente o dilogo que ocupa o
segundo entre os cinco que integram o mencionado espectro.
O Polisur sempre esteve identificada com a sua comunidade e, neste
sentido, podemos dizer que somos uma polcia comunitria, onde existe
uma retroalimentao informativa permanente entre ambas, que permitiu
uma capacidade de resposta oportuna e eficaz, e esta confluncia de
objetivos mtuos foi a base para o nosso sucesso operacional e - de certa
forma para alcanar nossa Misso e Viso, alm de preservar a qualidade
de vida desse ecossistema social sobre o qual falamos no comeo.
Caso: Evitar um linchamento. Um assunto de confiana
143
C
H
I
L
E
Artigo
*Diretora do Programa Segurana e Cidadania FLACSO Chile
DILEMAS DA REFORMA POLICIAL NA AMRICA
LATINA
Luca Dammert*
Em um continente marcado pelo aumento da violncia e da
criminalidade, as polcias adquirem um papel cada vez mais central na
governabilidade dos pases. Paradoxalmente, o retorno da democracia
tem gerado uma maior dependncia governamental para as polcias,
principal instituio encarregada da ordem e da estabilidade pblica. No
entanto, esse papel principal no tem sido complementado por uma
mudana institucional que leve a maiores nveis de profissionalizao e
eficcia. Ao contrrio, a utilizao excessiva da fora, a corrupo e a
participao em atos criminosos so elementos do cotidiano de
praticamente todos os pases da regio.
Este contexto tem gerado a implantao de diversas iniciativas de
reforma que buscam no s gerar impactos sobre a gesto, mas tambm
sobre a doutrina e a cultura institucional. Alm disso, na maioria dos casos,
as experincias so incipientes e os resultados variados e, inclusive,
contraditrios.
Ora, os problemas da polcia interpelam a sociedade como um todo
e a qualidade do Estado democrtico em seu conjunto. Dessa maneira,
no se pode analisar as polcias como entidades isoladas do resto do
aparato governamental, mas necessrio reconhecer os desafios que
impe para o exerccio democrtico poder confront-las enquanto poltica
de Estado. Dessa forma, corresponde ao Estado oferecer os pressupostos
necessrios para que as instituies policiais funcionem com qualidade,
bem como desenhar os processos de capacitao dos corpos policiais
com nfase no Estado de Direito, incentivando uma doutrina e gesto
policial modernas. Da mesma maneira, o Estado deve estabelecer
mecanismos de pesos e contrapesos mtuos para limitar o uso da fora,
a violao aos direitos humanos, a ineficincia e inclusive a ineficcia da
ao policial.
O presente artigo tem como objetivo sistematizar as diversas
experincias de reforma desenvolvidas na regio nas ltimas dcadas. Neste
processo, busca-se identificar os elementos que tm levado a processos
144
errticos de implantao, bem como aqueles elementos que servem de
base para a gerao de mudanas durveis.
O texto est dividido em 6 partes. A primeira delas analisa o
contexto geral de segurana na Amrica Latina, o qual nos permitir
compreender as mudanas institucionais nas polcias e seus resultados.
Em um segundo momento, descreve-se, em linhas gerais, as principais
caractersticas das instituies policiais da regio para, em seguida,
aprofundar na principal resposta pblica diante dos desafios que a Amrica
Latina enfrenta em matria de segurana, isto , as reformas policiais.
Posteriormente, revisa-se as experincias internacionais em matria de
reformas e seu impacto na Amrica Latina e no Caribe. Seguidamente, se
d passo caracterizao e reflexo crtica das mudanas institucionais e
reformas policiais na regio e, finalmente, apresenta-se alguns avanos e
retrocessos passveis de serem visualizados neste processo. .
1. VIOLNCIAS, CRIME E TEMOR NA AMRICA LATINA
Na atualidade, a violncia um dos problemas sociais mais
importantes, porm tambm um dos menos entendidos. Talvez um dos
motivos dessa dbil correspondncia esteja basedo no fato da
compreenso sobre a mesma se gerar atravs da imprensa massiva, que
muitas vezes forma uma imagem distorcida da realidade, bem como prope
solues que eventualmente servem de muito pouco para a reduo da
taxa de criminalidade. evidente que as perspectivas tericas utilizadas
para analisar esse fenmeno proporcionam uma imagem sobre o que a
violncia e como atuar diante dela. Lamentavelmente, o senso comum
est intimamente relacionado a perspectivas tericas que enfatizam o
componente individual do fenmeno violento, bem como as sadas
repressivas, sem discutir a origem social do mesmo.
Embora a violncia seja um fenmeno complexo, que cobre uma
variedade de tipos e categorias que tornam impossvel a formulao de
uma teoria que explique todas as formas de conduta violenta, necessrio
explicitar o esvaziamento do contedo das principais categorias
relacionadas a esta problemtica. Quer dizer, a presena de enfoques
diversos e especializados sobre a violncia tem gerado um uso inadequado
dessas categorias. Tende-se a confundir conflito com violncia, violncia
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
145
com criminalidade e criminalidade com sensao de insegurana. Essa falta
de clareza na utilizao dos termos gera srias conseqncias na anlise
social e tem implicaes relevantes na formulao e implementao de
polticas pblicas.
A anlise da violncia urbana requer entender as cidades enquanto
um campo de relaes e de conflito social permanente devido diversidade
de pessoas e interesses que a habitam (Carrin, 1998). Dessa forma,
importante ressaltar que o conflito consubstancial com a cidade e,
portanto, propor a desapario do conflito s pode estar baseado na
imposio autoritria de um nico olhar e interpretao da realidade. Assim,
embora a cidade seja um territrio onde os conflitos se potencializam,
isto no implica que seja tambm um territrio onde a violncia deva se
reproduzir, j que os conflitos nem sempre tm como conseqncia
respostas violentas. Caso partamos de uma definio de violncia como o
uso ou ameaa de uso da fora fsica ou psicolgica com inteno de
provocar dano de maneira recorrente ou como forma de resolver conflitos
(Arriaga, 1999), nos encontramos diante de uma multiplicidade de
violncias que podem ser agrupadas conforme diversos fatores, dentre
os quais destaca-se o espao geogrfico onde se realizam (Bvinic e
Morrison, 1999).
Esta ltima caracterizao se torna central na Amrica Latina,
continente com um alto grau de urbanizao e um aumento explosivo da
violncia em praticamente todas suas dimenses. Especificamente na
Argentina, a alta percentagem de urbanizao, a constante exposio de
atos violentos na imprensa massiva (Concha, 1994), a evidente decadncia
das condies de vida de uma proporo importante de seus habitantes e
o crescimento sustentado das taxas de criminalidade so fatores que tem
colocado a problemtica da violncia urbana no centro da discusso poltica.
De forma notvel, a violncia urbana equiparada quase diretamente com
a criminalidade, mais especificamente com os crimes contra a propriedade,
que representam mais de 70 % dos crimes cometidos no Chile inteiro,
por exemplo (Ministrio do Interior, 2002).
A complexidade do assunto e suas diversas dimenses tm
dificultado o desenvolvimento de diagnsticos e anlises que permitam
um olhar integral sobre o horizonte de problemas existentes. No entanto,
podem ser ressaltadas algumas caractersticas na Amrica Latina: um
Luca Dammert
146
fenmeno novo do ponto de vista de sua magnitude; tem se diversificado
pelo fato de incluir novas modalidades, como o trfico de drogas, o
seqestro relmpago e as gangues de rua; inclui a emergncia de novos
atores que superam a criminalidade comum, como os sicrios (matadores)
na Colmbia; e penetra em todos os domnios da vida urbana.
A dcada de 90 marca a apario da criminalidade como principal
problemtica urbana na Amrica Latina. Embora a maioria dos pases tenha
vivido durante os anos 80 processos violentos, estes estiveram vinculados
principalmente com a presena de conflitos polticos. Uma das principais
caractersticas da problemtica criminal sua urbanizao, quer dizer,
apresenta-se com maior clareza nas cidades grandes e mdias da regio.
Neste quadro, necessrio levar em considerao que a Amrica Latina e
o Caribe constituem a regio em desenvolvimento mais urbanizada do
mundo, com uma populao urbana que alcanou, no ano 2000, 75%
(CEPAL, 2000). Inclusive com porcentagens mais altas em pases como a
Argentina onde, conforme informao oficial, estima-se que mais de 90%
da populao mora em cidades. Ao mesmo tempo, as principais cidades
da regio experimentam ndices crticos na ltima dcada, perodo no
qual a regio se tornou a segunda mais violenta do mundo. Esta anlise
comparada mostra que a Amrica Latina e o Caribe, em 1990, alcanaram
uma taxa de homicdios regional de 22,9 por 100 mil habitantes, isto ,
mais do dobro da mdia mundial 10,7 - (Bvinic e Morrison, 1999).
Alm da informao oficial analisada anteriormente, os dados de
vitimizao confirmam que a Amrica do Sul ocupou o segundo lugar
dentre as regies com maior porcentagem de populao vtima de um
crime (68 %). Uma das caractersticas chamativas desta informao a
porcentagem de populao assaltada (31%), muito acima da mdia mundial
(19%) e da Amrica do Norte, que ocupou o terceiro lugar (22%) (Gaviria
e Pages, 1999).
As variaes regionais merecem uma anlise especial, j que no s
se apresentam em nvel nacional, mas tambm dentro de cada pas. Assim,
por exemplo, as taxas de homicdio na regio variam de 117 por cada
100 mil habitantes em El Salvador a 1.8 por cada 100 mil habitantes no
Chile. Estas disparidades so crticas tambm na anlise nacional j que se
apresentam realidades complexas em cidades que, de fato, concentram a
criminalidade.
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
147
Quanto anlise das denncias, preciso ressaltar que seu
incremento pode se explicar por duas situaes divergentes. Uma primeira
interpretao enfatiza o fato dessa tendncia demonstrar um aumento da
criminalidade e, portanto, dos crimes realmente cometidos, enquanto a
segunda explicao enfatiza o aumento dos nveis de denncia, isto , uma
diminuio da cifra negra de crimes no denunciados. Praticamente em
nenhum dos pases da regio tem sido possvel estabelecer uma
interpretao nica desta variao, mas possvel afirmar que a magnitude
do incremento no pode refletir unicamente um aumento da ao
criminosa.
Outro fenmeno interessante se relaciona com a geografia do
crime, que no incio da dcada passada concentrava-se nas cidades capitais
de cada pas, mas que tem mostrado capacidade de mobilidade para as
cidades intermedirias. Assim, por exemplo, no Chile e na Colmbia as
taxas de crimes evidenciam o fato da incidncia desta problemtica, em
alguns casos, ser superior em cidades intermedirias do que na mesma
Capital.
Outro elemento a ser considerado a emergncia da sensao de
insegurana ou temor como problema pblico. Diversos estudos
realizados na regio mostram nveis significativos de temor na populao,
os quais tm um impacto em reas to diversas como: a estrutura de
crescimento da cidade (cada vez com mais grades e segregada), a
privatizao da segurana, o aumento da desconfiana cidad e a sensao
de impunidade diante do crime. Embora esta situao seja identificada a
partir de incios dos anos 90, diversos estudos mostram que este temor
diante da criminalidade esconde, muitas vezes, outros temores
caractersticos da vida atual (precariedade no emprego, carncia de plano
de sade e previdncia social, entre outros) (PNUD, 1998). Da mesma
maneira, a forma com a qual tem crescido a cidade (planejada ou no) se
caracteriza por nveis de segregao significativos, que apiam a
configurao de um outro identificvel socioeconmica e
territorialmente.
Todo o dito anteriormente, embora escape a uma poltica pblica
orientada para a mudana policial, tem tido repercusses importantes
neste mbito, fato que muitas vezes exigiu das instituies policiais a
necessidade de responder problemticas que vo muito alm de suas
Luca Dammert
148
funes e que esto claramente ligadas a fenmenos estruturais complexos
que no podem ser abordados apenas por instituies de ordem pblica.
Neste contexto, importante ter presente que as problemticas da
violncia, da criminalidade e do temor que enfrenta a regio no podem
ser abordadas apenas a partir do olhar do controle policial, embora no
deva se desconsiderar que boa parte das mudanas institucionais baseadas,
em grande medida, no papel principal que adquiriram estas instituies na
problemtica da segurana, tenha incorrido nesse erro. .
2. AS INSTITUIES POLICIAIS NA AMRICA LATINA
Na Amrica Latina existem diversas instituies policiais. Por um
lado, estas podem ser caracterizadas por seu mbito de ao: nacionais
(como Carabineros no Chile ou a Polcia Nacional da Colmbia), regionais
(em pases federais como o Mxico, o Brasil e a Argentina), e inclusive
locais (alguns municpios contam com foras policiais prprias). Por outro
lado, podem ser classificadas conforme com seus objetivos especficos:
h instituies dedicadas unicamente investigao policial (como a polcia
judiciria de Crdoba
1
) ou aquelas dedicadas preveno e controle da
criminalidade. No entanto, alm dessas diferenas, as instituies policiais
podem ser caracterizadas em termos gerais como ... as pessoas
autorizadas por um grupo para regular as relaes interpessoais dentro
do grupo, atravs da aplicao da fora fsica (Bayley, 2001).
Esta definio tem trs elementos centrais: fora pblica, uso da
fora e profissionalizao. Quanto ao primeiro, a instituio policial
responde s necessidades da sociedade na sua totalidade, fato que a obriga
a responder de forma equiparvel diante das diversas presses da
cidadania. No entanto, na ltima dcada, esta caracterstica tem se
desvirtuado em praticamente todos os pases da regio, em virtude de
dois processos paralelos. Em primeiro lugar, o aumento do investimento
privado e a carncia de regulao para este fluxo tm um impacto negativo
evidente na distribuio da infra-estrutura e atendimento policial, ocupando
seus espaos, limitando sua ao e, em alguns casos, debilitando sua
capacidade de resposta. Assim, a proliferao de empresas de vigilncia
particular, paradoxalmente, aumenta a sensao de falta de proteo de
muitos cidados que no tm acesso a esse servio, bem como daqueles
que investem em mecanismos de encerramento e alarme coletivos.
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
149
Em segundo lugar, as polcias deveriam ser as instituies que
possuem o monoplio do uso legtimo da fora do Estado, entendendo
que em um Estado de Direito a fora pode ser utilizada para restabelecer
a ordem social. Lamentavelmente, em muitos casos, a fora utilizada de
forma ilegtima, conduzindo ao aumento de cidados mortos pelas polcias
(como mostram as estatsticas apresentadas no Brasil e na Argentina) ou
a violao de outros direitos humanos (Equador e Peru). Esta utilizao
da fora se evidencia especialmente nos processos de prises, bem como
no tratamento da populao carcerria.
Em terceiro lugar, a instituio policial deveria ser um corpo
profissional capaz de desenvolver iniciativas de preveno, controle e
investigao criminal de forma eficaz e eficiente. Este preparo profissional
fundamental pelo fato de outorgar s polcias certa autonomia diante do
mando poltico em relao tomada de decises de interveno e
aplicao de conhecimentos tcnicos no fazer policial, porm, de forma
alguma, lhe outorgua independncia completa. Neste sentido, a
responsabilidade pela segurana deve ser assumida pelo poder poltico,
assim como tambm deve assumir a necessidade e avaliar o impacto das
estratgias utilizadas. Lamentavelmente, em alguns casos, a prpria
opinio pblica que pressiona para destinar mais policiais para o policiamento
ostensivo, fato que gera uma reduo dos perodos de capacitao do
corpo policial. Embora haja elementos especficos a ser enfrentados, como
a quantidade de anos de escolaridade exigidos para ingressar e se formar
na instituio, o que relevante e primordial redefinir que tipo de polcia
precisamos. Sobre a base disto, poder ser estabelecido um perfil
adequado, tanto na sua capacitao quanto nas suas habilidades pessoais.
Especialmente na Amrica Latina, Bayley assinala dois temas
recorrentes da organizao policial. Primeiro, historicamente a diferena
entre segurana interna e externa no tem se apagado; as foras militares
tm jogado (e em alguns pases ainda o mantm) um papel central na
manuteno da ordem interna. Essa situao se consolida com a estrutura
militarizada das polcias que, em diversos pases da regio, mantm
inclusive uma dependncia administrativa e funcional da rea militar.
No existem dvidas de que o papel da polcia ainda mais complexo
onde sua legitimidade e autoridade esto em disputa. Um segundo elemento
caracterizador das polcias latino-americanas que as mesmas so vistas
Luca Dammert
150
pela cidadania com desconfiana devido pouca eficincia, corrupo e
baixa profissionalizao de seus integrantes. Assim, por exemplo, em El
Salvador, Jos Miguel Cruz explicita que, ao longo da histria, a prtica do
uso das foras de segurana para proteger os interesses de grupos bem
posicionados tem causado danos sua legitimidade aos olhos das camadas
sociais mais baixas (Cruz, no prelo).
3. A REFORMA POLICIAL COMO PRINCIPAL RESPOSTA PBLICA
Em um contexto marcado pel a crescente presena da
cri mi nal i dade, pel a desconfi ana ci dad com as pol ci as e pel o
desenvolvimento de prticas corruptas e de uso excessivo da fora, a
reforma da polcia se converteu na principal resposta de poltica pblica
na regio. Cabe mencionar que essas reformas esto inscritas dentro do
que ODonnell chama a terceira gerao no processo de consolidao
democrtica. Devido a isso, sem dvida, durante os primeiros anos de
democracia, foram poucos os pases que puderam gerar uma mudana
na gesto e na doutrina policial na Amrica Latina.
Desta maneira, a reforma das polcias no apenas uma necessidade
de responder aos problemas de criminalidade presentes em todos os pases
da regio, mas tambm um elemento fundador do processo de consolidao
democrtica.
A expectativa pblica, no entanto, enfatizou a possibilidade de que
uma polcia mais eficiente e efetiva poderia resolver o problema da
segurana. Situao essa que se apoiava em intervenes realizadas nos
Estados Unidos, onde a sociedade parecia, inclusive, disposta a sacrificar
em certa medida a proteo de seus direitos civis a favor de mais
segurana. Paradoxalmente, na Amrica Latina, esta disponibilidade se
observa especialmente naqueles pases que tm sofrido ditaduras militares,
motivo pelo qual os esforos em promover o respeito aos direitos
humanos e a responsabilidade do governo nas novas democracias se
enfrentaram com uma carga adicional.
Sem dvida, a reforma policial apenas um elemento das polticas
para diminuir a criminalidade. No entanto, durante a primeira metade dos
anos 90, essa foi vista como a principal sada para enfrentar essa problemtica.
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
151
Assim, se tem limitado o desenvolvimento de uma perspectiva
sistmica e integrada que inclua, pelo menos, programas e iniciativas
dedicadas a: (1) preveno do crime (educao, proteo infantil e bem-
estar familiar, lazer, emprego, policiamento de rotina e sensibilizao da
comunidade, entre outros); (2) represso do crime e investigao (polcia
com ou sem farda, peritos criminalistas, inteligncia criminal); (3) julgamento
(promotores pblicos, varas
2
- incluindo juzes e postos administrativos -,
advogados de defesa); (4) sistema penitencirio e ps-penitencirio
(emprego, assistncia pessoal e familiar, tratamento anti-drogas).
Sem dvida, a reforma policial um elemento central do processo,
mas no pode, por si s, prevenir e controlar a violncia e a criminalidade
em um certo pas. Assim, por exemplo, uma maior presena policial e
represso do crime tm como conseqncia um maior nmero de presos,
que nem sempre so culpados. Este processo tem efeitos negativos, como
o colapso do sistema judicirio e do sistema penitencirio, bem como um
processo de esquecimento da importncia da reabilitao. Em troca, o
sistema judicirio colapsado se torna mais vulnervel ineficincia,
injustia, corrupo e ao abuso. E as prises, superlotadas e com infra-
estrutura precria, se tornam violentos e perigosos depsitos humanos,
conhecidos tambm como escolas do crime.
4. O PAPEL DA EXPERINCIA INTERNACIONAL
A crise policial na Amrica Latina encontrou um espao limitado
de referncias internacionais bem sucedidas que poderiam servir como
referncia ou modelo de ao. Certamente, aquelas iniciativas de
reforma implementada em pases europeus e inclusive nos Estados
Unidos partem de supostos financeiros extremamente diferentes aos
encontrados na regio. Alm disso, a cultura policial diferente e, sem
dvida, os problemas apresentados em cada um desses contextos ,
inclusive, variada.
Apesar da diversidade institucional e contextual comentada
previamente, se tem gerado um processo bastante expandido de
importao de modelos considerados bem sucedidos de gesto,
administrao e operao policial. A principal iniciativa importada a
experincia do Prefeito Giuliani na cidade de Nova York.
Luca Dammert
152
O apoio de instituies no governamentais, como o Manhatan
Institute, tem sido decisivo para dar a conhecer uma experincia de
interveno que tem supostos tericos claros e implicaes polticas. Desta
forma, a tolerncia zero ou janelas quebradas
3
, como indistintamente
se conhece na Amrica Latina as medidas adotadas na cidade de Nova
York, so a principal mostra da importao de polticas. A contratao de
Giuliani na Cidade do Mxico por mais de quatro milhes de dlares,
com vistas a que fizesse um diagnstico da situao e uma listagem de
146 recomendaes, um exemplo do tipo de aes que se tem
desenvolvido na regio para gerar iniciativas de impacto pblico,
comunicacional e institucional. Por sua parte, o chefe policial Bratton, de
Nova York, tem sido tambm assessor de governo de cidades como
Lima, Caras e Guayquil.
O elemento comum aos diagnsticos na Amrica Latina a
identificao de problemticas que tm mais a ver com a cultura nacional
do que com a especificidade policial. Assim, por exemplo, a alta presena
de comrcio ambulante nas cidades de Lima e Mxico foi percebida como
um problema central que deveria ser enfrentado com a fora pblica.
Indicao que s mostra o desconhecimento da realidade destas cidades
onde importantes porcentagens de populao carecem de trabalho formal
e, portanto, a informalidade seu nico meio de sobrevivncia.
Adicionalmente importante mencionar que essas iniciativas tm
chegado da mo de um processo de modernizao tecnolgica onde o
COMPSAT (Pacote Estatstico ou de Anlise Estatstica) a palavra mgica
para o fazer policial. Nesse ponto, importante ressaltar que esse sistema
de informao estatstica, desenvolvido em Nova York, permite conhecer
o fenmeno criminal com maiores detalhes, mas tambm permite avanar
em processos de descentralizao das tarefas e procedimentos policiais.
Consolidando uma institucionalizao menos hierrquica e com
importantes componentes de discricionaridade na tomada de decises
operacionais por parte do agente policial responsvel.
claro que, no processo de importao, a iniciativa no se adota
de forma completa, mas, ao contrrio, tem desembarcado em terras
latino-americanas como um sistema altamente tecnologizado para o manejo
de informao criminosa. Portanto, realizam-se investimentos significativos
para equipar melhor a capacidade policial em termos de sistemas de coleta
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
153
e anlise de informao, bem como de sistemas de informao geogrfica,
entre outros. Tudo aquilo vinculado com a definio de uma instituio
menos hierrquica, com espaos de debates e distribuio de tarefas e
responsabilidades entre os agentes, ficou no caminho.
A polcia comunitria outra iniciativa dentre os mltiplos
desenvolvimentos na regio com um vis internacional de boa prtica,
auspiciada principalmente pelo Banco Internacional de Desenvolvimento.
Embora a idia de gerar instituies policiais com uma maior e melhor
relao com a comunidade seja um excelente ponto de partida para as
mudanas necessrias no interior das instituies policiais, o conceito de
polcia comunitria tem sido utilizado para denominar experincias diversas
e inclusive distantes do objetivo mesmo do community policing,
desenvolvido nos Estados Unidos ou a polcia de proximidade, francesa.
De fato, na maioria dos casos latino-americanos, encontra-se um pequeno
grupo no interior da instituio policial dedicado comunidade e o
restante do pessoal mantm as mesmas prticas tradicionais. Em muitos
casos, esse plano piloto no assumido como uma verdadeira mudana
de paradigma, mas como uma forma de cumprir com a nova tica
institucional.
Os exemplos utilizados previamente mostram que o processo de
importao de polticas se enfrenta com um srio problema de aplicabilidade,
mas sobretudo com um dficit de conhecimento relativo s iniciativas a
serem desenvolvidas. Nesse sentido, o que seja considerado exitoso no
colocado em dvida antes de sua aplicao, o que traz srias conseqncias.
5. O QUE SE ENTENDE POR REFORMA POLICIAL?
A experincia europia e norte-americana mostra significativas
mudanas em aspectos da funo e doutrina policial. Em geral, essas
reformas se realizam em dois vrtices: a capacidade operacional (eficincia
e eficcia da polcia) e a responsabilidade democrtica (as respostas da
polcia diante do controle poltico e ao respeito aos direitos civis e
humanos). Desta forma, busca-se aumentar os mecani smos de
fiscalizao e controle das instituies policiais, no s em termos de
atuao no mbito da lei, mas tambm pela eficcia e eficincia das
iniciativas desenvolvidas.
Luca Dammert
154
Essas mudanas foram revisadas na Amrica Latina, onde o
incremento da sensao de insegurana, a corrupo e a ineficcia da ao
policial mostraram a necessidade de mudanas profundas na sua doutrina
e gesto. Dessa forma, pode-se evidenciar quatro processos ocorridos
nas ltimas dcadas: a criao de novas instituies policiais naqueles pases
que sofreram guerras civis (como El Salvador); as reformas parciais
ocorridas na Argentina e na Colmbia; as iniciativas inovadoras
desenvolvidas por diversas instituies na regio.
Novas polcias
At meados dos anos 90, a polcia centro-americana era um elemento
central na manuteno da ordem interna e no apoio das Foras Armadas.
Dessa forma, sua subordinao doutrinal e de gesto era evidente. Assim,
por exemplo, em Honduras, a Fora de Segurana Pblica estava sob o
comando das foras armadas; enquanto que, em El Salvador, em 1992
(data em que se assinaram os acordos de paz) as trs instituies policiais
dependiam do Ministrio da Defesa.
Dessa maneira, os efetivos policiais estavam treinados quase
exclusivamente para confrontar a insurgncia armada e para cooperar com
militares na manuteno da ordem interna. Situao que ia contra a
formao e capacitao em funes prprias da polcia, como a preveno
e o controle da criminalidade.
Adicionalmente, a participao de polcias em confronto com a
populao e a extrema utilizao da fora geraram a necessidade de
defi ni r novas i nsti tuci onal i dades com l egi ti mi dade e certo
reconhecimento cidado. Dessa forma, criaram-se instituies policiais
praticamente novas na regio.
Em El Salvador, a criao de uma nova polcia foi um dos acordos
centrais do Tratado de Paz de 1992, que deu fim a uma longa e dramtica
guerra civil. Dessa forma, tratou-se de limitar a participao das foras
de polcia como elementos que servem para fins polticos, j que no
velho regime as foras de segurana representavam os interesses das
camadas sociais altas; um exemplo deles o fato das foras de segurana
nacional serem usadas para manter a ordem nas plantaes de caf nas
pocas de colheita.
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
155
Essa nova polcia nacional se aliou a veteranos da guerrilha e das
Foras Armadas, assim como com novos recrutas. Lamentavelmente, o
processo foi bem sucedido no incio, mas posteriormente fracassou, o
que foi evidenciado pela diminuio do alto grau de aprovao social que
tinha a mencionada instituio.
Paradoxalmente, na atualidade, percebe-se um regresso paulatino
dos militares a funes de manuteno da ordem pblica. Situao que
encontra justificativa na sensao de insegurana da populao e na aparente
limitada efetividade da nova instituio policial.
Reformas parciais
Diferente dos processos apresentados previamente, a maioria das
iniciativas vinculadas s instituies policiais na Amrica Latina relaciona-
se com esforos parciais de mudana, tanto na doutrina quanto na gesto
policial. Em linhas gerais, a causa principal destas reformas foi a
preocupao da sociedade com o forte incremento do crime e da violncia,
junto com a percepo geral da fora policial como uma instituio corrupta
e ineficaz. As reformas giraram, sobretudo, em torno de esforos graduais
para reorganizar a polcia, purgar os oficiais corruptos e melhorar o
recrutamento e formao, bem como melhorar a vigilncia e a participao
da sociedade civil.
Vale destacar que, na maioria dos casos, os mencionados processos
se enquadraram em contendas polticas e no incluram o apoio
institucional. Portanto, contaram com uma ampla resistncia institucional
e, inclusive, com uma constante rejeio por parte da sociedade
4
.
Diversos so os casos onde se implementaram essas reformas.
Seguidamente, apresenta-se brevemente a experincia da Argentina, da
Colmbia e do Peru, que mostram elementos comuns a outras experincias
da regio.
Argentina
Em meados da dcada de 90, a Argentina assistiu a um aumento da
preocupao pblica sobre a denominada crise de segurana, que teve
como elemento central a baixa eficcia e a alta corrupo das instituies
Luca Dammert
156
policiais. Nesse contexto, diversas provncias do pas enfrentaram
iniciativas de reforma da instituio policial (Santa Fe, Buenos Aires,
Crdoba, Mendoza so apenas alguns exemplos). Sem dvida, a
experincia da Provncia de Buenos Aires, que representa mais de um
tero da populao nacional e conta com uma das polcias do pas pior
avaliadas, um exemplo paradigmtico dos objetivos, resultados e
problemticas destas iniciativas.
A Polcia da Provncia de Buenos Aires reconhecida historicamente
pelos altos nveis de violncia rotineira e pela sistemtica violao dos
direitos humanos, conduzida por certos grupos operacionais no interior
de sua estrutura (San, 2002). No entanto, no final de 1996, os graves
fatos de violncia policial, incluindo a deteno e a denncia judicial de
oficiais envolvidos no ataque terrorista contra a sede da Associao Mutual
Israelense Argentina (AMIA), geraram mudanas na chefia policial.
Assim foi aprovada a Lei de Emergncia Policial (Lei 11.880), que
modificou a estrutura da Polcia e imps que todos os integrantes da fora
fossem postos a prova no prazo de um ano, durante o qual se analisaria
sua conduta e, no caso de serem comprovadas irregularidades, seriam
separados da instituio atravs de um afastamento desonroso. De igual
modo, foi modificada a lei de procedimento criminal, com o objetivo de
melhorar o controle das atividades da polcia e modificar sua relao com
o poder judicirio.
Esse incio de reforma sofreu diversos contratempos, marcados
especialmente pela constante negativa dos oficiais em aceitar as mudanas
propostas. Situao que se manteve no ano 1997, quando se aprovou o
Plano de Reorganizao Geral do Sistema Integral de Segurana e
Investigao dos Crimes da Provncia de Buenos Aires. A primeira medida
do Plano foi a interveno da Polcia a efeitos de sua reorganizao,
estabelecendo um prazo de 90 dias para essa ao.
O interventor destituiu toda a equipe supervisora da fora policial,
desmantelou as linhas de mando e ordenou o afastamento de mais de 300
comisarios generales e mayores
5
. De igual forma, foi sancionada a Lei 12.090
que criou o Ministrio de Justia e Segurana, com funes na gesto das
reas de segurana, investigaes policiais, justia, sistema penitencirio e
relaes com a comunidade.
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
157
Este processo de reforma tem passado por diversas etapas de
avano e retrocesso, marcadas principalmente pelo interesse e utilizao
poltica da temtica. Nesse sentido, as mudanas no podem ser analisadas
na sua integridade, j que as denncias de corrupo e de utilizao
excessiva da fora so ainda cotidianas.
Colmbia
O processo de reforma da Polcia Nacional da Colmbia foi gerado
no interior da instituio a partir de meados dos anos 90, a partir da
percepo geral de uma instituio penetrada pela corrupo e o trfico
de drogas. Sem dvidas, a liderana do chefe da polcia Jos Serrano,
nomeado no ano 1994, oferece um elemento central desse processo.
Essa se iniciou com uma limpeza de mais de 7 mil funcionrios policiais de
todas as hierarquias, bem como com a mudana da estrutura e da cultura
institucional. Nesse sentido, foi desenvolvida uma perspectiva gerencial
baseada no planejamento estratgico, que permitia espaos de liberdade
e certa autonomia dos chefes regionais, os quais teoricamente poderiam
desenhar e implementar iniciativas focalizadas de controle e preveno.
As reformas realizadas por Serrano tiveram um impacto positivo
sobre a percepo da populao, que reconhece o esforo realizado por
aumentar a efetividade e o profissionalismo da instituio policial.
Esse processo ressaltou a capacidade da polcia para superar
problemas de corrupo e demostrou sua efetividade na priso de
traficantes importantes. No entanto, os resultados tm sido muito mais
parciais quanto melhora da organizao interna e dos procedimentos,
fato que tem terminado com novos escndalos de corrupo, que
reapareceram publicamente no incio do ano 2003.
Peru
O caso peruano mostra tambm a importncia da liderana civil no
processo de reforma da polcia, bem como os vaivns polticos a que esta
submetida. Neste caso, a preocupao central da instituio policial
durante os anos 80 e incio dos 90 foi o combate ao terrorismo e ao
trfico de drogas. Esta situao gerou um paulatino abandono das
estratgias policiais vinculadas segurana interna, um aumento da violao
dos direitos humanos e uma crescente corrupo e ineficincia.
Luca Dammert
158
Nesse processo, ficou evidente a necessidade de uma reforma da
estrutura e de uma doutrina policial que inclussem a recuperao das
tarefas prprias de uma polcia preventiva, bem como a regulao dos
servios locais (serenazgos) e privados de segurana. Neste contexto, o
Ministro Rospigliosi e, posteriormente, Costa, tomaram as propostas das
Bases para a Reforma Policial preparadas pelo governo de Valentin
Paniagua em 2002. Paralelamente, o Congresso da Repblica tinha avanado
na mesma direo e contava com um projeto de lei sobre o tema, situao
que permitiu alcanar um consenso cidado e poltico.
Assim, em janeiro de 2003, foi aprovada a Lei do Sistema Nacional
de Segurana Cidad, junto com outras normas enviadas pelo Executivo,
dentre as quais encontra-se a criao do sistema de segurana cidad.
Esse processo envolveu uma mudana na relao entre a polcia
e a cidadania, buscando envolv-las na preveno e no controle da
criminalidade em nvel local. Para isso, foi outorgado especial interesse
infra-estrutura das comisaras, bem como ao atendimento outorgado
aos denunciantes. Igualmente, envolveu uma mudana na estrutura da
instituio. Tanto a criao das divises de segurana cidad em cada
regio, quanto a melhora na organizao das comisaras e a simplifio
de seus processos administrativos, so aspectos importantes no
esforo por fazer mais eficiente a atividade policial e reduzir os ndices
da insegurana e do crime.
Apesar das boas intenes, ambos os ministros estiveram em seus
postos por um perodo de no mximo dois anos (no consecutivos), o
que significou importantes avanos e retrocessos na estratgia em questo.
Polcia Comunitria
A relao com a comunidade tem se convertido em um dos
elementos centrais de qualquer estratgia de preveno e controle do
crime. assim como a maioria das instituies policiais da regio tem
adotado um discurso que enfatiza a importncia da colaborao com a
comunidade. O leque de aes consideradas comunitrias amplo e
abrange iniciativas como: grupos de vizinhos para vigilncia, assistncia
com contas pblicas, gerao de financiamento para as polcias locais e
participao em projetos de preveno.
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
159
Lamentavelmente, estas iniciativas tm ficado, em muitas ocasies,
no nvel do discurso poltico e institucional e no tm se refletido em
mudanas no interior das polcias que permitam uma efetiva inter-relao
com a cidadania. As iniciativas de polcia comunitria desenvolvidas na
Amrica Latina so recentes e tm sido pouco estudadas. O especialista
em temas policiais Hugo Frhling tem realizado uma das primeiras
sistematizaes de diversos casos na regio e estabeleceu alguns
elementos que precisam ser enfatizados.
Em primeiro lugar, estas iniciativas geram certa diminuio de
alguns crimes, bem como do sentimento de insegurana da populao
que observa uma maior presena policial nas ruas. Adicionalmente,
evidencia-se uma melhor imagem cidad a respeito da instituio e
pri nci pal mente dos ofi ci ai s responsvei s pelo pol i ci amento das
vizinhanas. Finalmente, os esquemas de polcia comunitria envolvem
uma diminuio das possibilidades de abuso policial ou do uso
desnecessrio da fora graas ao conhecimento que tem a populao
dos oficiais responsveis pelo policiamento.
Por outro lado, estes esquemas no constituem um mtodo eficaz
para controlar o crime (Rico e Chinchilla, 2003, p.102), mas sim para
enfrentar algumas situaes concretas em nvel local. Igualmente, fica
evidente que as propostas so de difcil adaptao nas estruturas policiais
devido necessidade de descentralizar a tomada de decises e diminuir
a forma militarizada de sua ao. Estas duas ltimas caractersticas so
as principais das polcias latino-americanas. Outra das limitaes se
relaciona com sua avaliao devido necessidade de definir quais so os
indicadores de eficincia e, sobretudo, o prazo em que estes podem
ser avaliados. Neste sentido, a participao limitada de certos integrantes
da instituio em estratgias comunitrias parece erodir as bases mesmas
de um modelo alternativo do funcionamento policial na regio.
Outras Inovaes
Alm dos processos de mudana analisados previamente, na regio
existem outros esquemas de mudana menos difundidos, mas, com
certeza, tambm interessantes. Em seguida, apresentam-se dois casos
que consideramos emblemticos, no s pelos temas que colocam, mas
tambm porque representam uma tendncia generalizada na regio.
Luca Dammert
160
Em primeiro lugar, a necessidade de uma estreita colaborao entre
a polcia e o setor privado um tema ainda em debate, que pretende superar
a j tradicional colaborao financeira para a compra ou manuteno de
infra-estrutura bsica da polcia em um certo setor e desenvolver novas
ferramentas de cooperao.
Um exemplo destas iniciativas aquela apresentada pelo Instituto
contra a Violncia de So Paulo, que descreve uma recente parceria entre o
setor pblico e privado para melhorar a manuteno da ordem e contribuir
com a preveno do crime, em uma rea metropolitana que sofre severos
nveis de violncia criminal. A partir de um esforo conjunto de associaes
de empresrios, instituies acadmicas e empresas de comunicao, foi
estabelecida uma resposta criativa da sociedade civil para melhorar a
eficincia policial, assim como sua eficcia (ver Mesquita Neto, no prelo).
Dessa forma, os interesses privados, em parceria com centros de pesquisa
na temtica e com as polcias, podem gerar mecanismos de investimento
em programas comunitrios, de participao da cidadania, de melhora da
eficcia e transparncia das aes policiais, entre outras atividades.
Ao mesmo tempo, possvel observar o desenvolvimento de
processos no to alentadores, tais como aqueles que devido ao incremento
do crime, junto com o processo de responsabilizao da sociedade, podem
gerar mecanismos no desejados de justia pelas prprias mos. Um caso,
talvez extremo, se apresenta no Estado Guerrero no Sul do Mxico onde a
cidadania cooperou para dar resposta percepo de ineficcia e, inclusive,
de abuso das foras policiais estatais. Assim, as comunidades indgenas
criaram uma polcia local formada quase na sua maioria por voluntrios, cuja
legalidade questionada por parte das autoridades estatais. Nesse caso,
no s se tornaram uma patrulha comunitria mas, de fato, passaram a
substituir a instituio dedicada a cuidar da ordem pblica. Sem dvida,
essas iniciativas chamadas de polcia comunitria podem se converter no
germe de um novo autoritarismo local que imponha justia e castigos.
6. CONCLUSO. AVANO OU RETROCESSO?
Os processos de reforma tm enfrentado diversos problemas. Em
primeiro lugar, a reao no interior da instituio, que percebe as novas
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
161
diretrizes como ameaadoras. Em segundo lugar, a negao da opinio
pblica ou dos grupos polticos conservadores, que colocam em dvida a
eficcia destes processos no combate criminalidade. Em terceiro lugar,
o apoio poltico tem sido errtico. De certa forma, poderia se afirmar
que as reformas no tm sobrevivido mudana de liderana nas instituies
ou no mbito poltico. Portanto, todas essas iniciativas no tm perdurado
no tempo e seu caminho de implementao mostra mltiplos avanos e
retrocessos.
Por outro lado, no inteiramente evidente que essas mudanas
afetem as taxas de crimes denunciados ou a sensao de insegurana da
populao. Situao essa que imprime um maior nvel de tenso poltica,
ao no mostrar resultados imediatos.
Apesar dos problemas mencionados, diversos so os avanos
alcanados nesta temtica. Talvez o mais importante seja o reconhecimento
geral da necessidade de mudana nas instituies policiais, a diminuio
do uso ilegal da fora, sua desmilitarizao e paralela profissionalizao.
Da mesma forma, o reconhecimento, por parte das mesmas polcias, da
necessidade de estabelecer mecanismos de colaborao com a cidadania
que permitam diminuir a desconfiana e aumentar a legitimidade da
atividade policial.
Em resumo, por enquanto, os resultados mostram a complexidade
de se reformar as instituies policiais na regio. Mas tambm abrem um
caminho para a consolidao de uma viso moderna, eficiente, transparente
e responsvel do funcionamento policial na Amrica Latina. Neste quadro,
colocam-se desafios que no s envolvem o tipo de polcia que temos,
mas especialmente a qualidade mesma de nossas democracias.
Referncias Bibliogrficas
Bayley, David H. 1990. Patterns of Policing: A Comparative International Analysis (New Brunswick:
Rutgers University Press).
. 2001. Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It (Washington, D.C.:
U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, Publicado em , http://www.ojp.usdoj.gov/nij).
Cruz, Jos Miguel (no prelo) Violencia, Inseguridad Ciudadana y las Maniobras de las Elites: La
Dinmica de la Reforma Policial en El Salvador Em Bailey, John e Dammert, Luca (org.).
Public Security and Police Reform in the Americas. University of Pittsburgh Press.
Luca Dammert
162
Mesquita Neto (no prelo) Asociaciones Pblicas-Privadas para la Reforma Policial en Brasil:
Instituto de So Paulo Contra la Violencia. Em Bailey, John e Dammert, Luca (org). Public
Security and Police Reform in the Amricas. University of Pittsburgh Press.
Rowland, Allison (no prelo) Respuestas Locales a la Inseguridad en Mxico: la Polica Comunitaria
de la Costa Chica y la Montaa de Guerrero. Em Bailey, John e Dammert, Luca (org). Public
Security and Police Reform in the Amricas. University of Pittsburgh Press.
Rico, Jose Mara e Chinchilla, Laura (2003) Seguridad ciudadana en Amrica Latina. SXXI,
Mxico.
Frhling, Hugo (2003), Polica Comunitaria y Reforma Policial en Amrica Latina. Cul es
el impacto?. Srie Documentos do Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de
Asuntos Pblicos de la Universidad de Chile.
Frhling, Hugo (2001), La Reforma Policial y el Proceso de Democratizacin en Amrica
Latina. CED, Santiago.
Llorente, M.V (no prelo) Demilitarizacin en Tiempos de Guerra? La Reforma Policial en
Colombia. Em Bailey, John e Dammert, Luca (edit). Public Security and Police Reform in the
Amricas. University of Pittsburgh Press.
Costa, Gino (2004) Nuevo enfoque de seguridad ciudadana post Fujimori: Desafos, realizaciones
y tareas pendientes Em: Dammert, Luca (Edit). Seguridad Ciudadana: Experiencias y desafos.
Programa URBAL, Valparaso.
Notas
1
Crdoba uma provncia (estado) da Argentina. (N.T.)
2
Juzgados, no original (N.T.)
3
No Brasil conhecido por teoria das janelas quebradas, segundo a qual uma janela quebrada
observvel em uma rua pode influir para uma possvel representao de desordem em uma
regio (NT).
4
Bayley (2001, p. 25) enfatiza que se a incidncia do crime e a desordem se percebe como
inaceitvel ou crescente, a reforma policial ser inibida. A reforma nestes casos pode ser vista
como uma distrao da aplicao efetiva da lei.
5
Ambas as categorias correspondem as duas hierarquias mais altas da carreira policial. (N.T.)
Dilemas da Reforma Policial na Amrica Latina
163
B
R
A
S
I
L
Comunicao
A POLCIA QUE QUEREMOS: CONSIDERAES
SOBRE O PROCESSO DE REFORMA DA POLCIA
MILITAR DO RIO DE JANEIRO
1
.
Hayde Caruso
*,
Luciane Patrcio
**
e Elizabete R. Albernaz
***
APRESENTAO
A derrocada dos regimes autoritrios na Amrica Latina, instaurados
em um contexto de polarizao continental suscitado pela Guerra Fria,
deu incio a uma longa e complicada jornada de transio democrtica. As
organizaes policiais, enquanto instrumentos historicamente privilegiados
de enraizamento do princpio da autoridade e de consolidao dos
chamados estados modernos (MUNIZ, 2002), receberam especial ateno
nos diversos processos de institucionalizao dessa nova ordem poltica.
Voltadas para a proteo dos interesses do Estado, operando lgicas
altamente militaristas, de nfase repressiva e autoritria, essas agncias
policiais vem-se ento progressivamente expostas a demandas e problemas
oriundos de uma nova e complexa configurao social. Devido ao seu papel
central na ao poltica, as polcias so organismos pblicos altamente
sensveis a estes tipos de dinmicas de mudanas histrico-sociais e rearranjos
estatais (MUNIZ, 2002). O contato dirio destas agncias com os anseios
e expectativas da populao tende a acentuar o processo, evidenciando os
contrastes entre o aparato de controle social totalitrio e a busca pela
universalizao dos direitos individuais e coletivos (MUNIZ, 2001).
Longe de estarem consolidados, porm em diferentes estgios de
maturao, os diversos processos de transio democrtica das polcias
latino-americanas so fortemente marcados por algumas caractersticas
comuns. Partindo de um nvel seguro de generalizao, as demandas em
torno da profissionalizao dos agentes, da reduo dos nveis de violncia
na ao policial, de uma maior participao da comunidade, do incremento
*
Antroploga, Coordenadora da Rede de Policiais e Sociedade Civil da Amrica Latina, Doutoranda
do Programa de Ps-Graduao em Antropologia PPGA/UFF.
**
Antroploga, Pesquisadora e Consultora em Segurana Pblica, Doutoranda em Antropologia
pela UFF, especialista em Polticas Pblicas de Justia Criminal e Segurana Pblica pela UFF,
Professora de Sociologia, Sociologia Jurdica e Criminologia da Universidade Candido Mendes -
UCAM.
***
Antroploga, Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social PPGAS/
UFRJ, Pesquisadora e Consultora em segurana pblica.
164
da eficincia em lidar com as dinmicas criminais e a busca de modelos
flexveis e descentralizados de gesto podem ser identificadas como as
grandes linhas de transformao regional (FRUHLING, 2003).
No Brasil, a abertura poltica e a promulgao da Constituio de
1988 inauguram uma mudana de paradigmas no que se refere ao
provimento pblico de segurana. Historicamente vinculadas aos
segmentos militares, atuando como foras auxiliares ao exrcito, as polcias
brasileiras tiveram um papel central no suporte a atividades de inteligncia,
na represso a distrbios civis e na segurana de pontos estratgicos, sob
a perspectiva da chamada doutrina de segurana nacional. Visando
manuteno da soberania do Estado brasileiro frente ameaa comunista
e subverso, as agncias policiais encontravam-se, em muitos sentidos,
afastadas da populao, com uma relao fortemente marcada pela violncia
e desconfiana sistemtica (MUNIZ, 2001).
A carta constitucional de 1988, como marco do processo de
transio democrtica brasileira, transportou o eixo de atuao das polcias
da manuteno da chamada segurana interna, pautada em um modelo de
ordem pblica harmnico, cujo foco era a supresso dos conflitos e a
formao de consensos, para o provimento de segurana pblica.
Pressupondo um novo arranjo social, onde os conflitos e jogos de interesses
constituem a dinmica por excelncia de uma ordem social democrtica,
o foco na segurana pblica implica o incremento de meios comedidos de
fora para a negociao da socialidade nos espaos pblicos, o reforo de
canais de participao comunitria enquanto instrumentos de planejamento,
controle social e legitimidade das aes policiais. (Kant de Lima, 1995)
Frente s presses internas e externas para a reestruturao de
seus modelos de atuao, diversas agncias policiais por todo o pas
iniciaram processos de reformulao estrutural nas ltimas dcadas.
Partindo de diferentes focos, como a qualificao dos agentes, estratgias
de planejamento e avaliao do policiamento, valorizao profissional e
criao de canais de interlocuo comunitria, as polcias brasileiras vm
progressivamente buscando se ajustar s demandas democrticas por
ampliao da cidadania
2
. O ritmo da mudana marcado por avanos e
retrocessos. Os jogos e disputas de poder entre segmentos internos s
agncias policiais, bem como os reveses da poltica nacional, ora constituem
grandes obstculos, ora foras catalisadoras deste processo.
A Polcia que queremos: consideraes sobre o processo de
reforma da Polcia Militar do Rio de Janeiro
165
Guardadas as devidas especificidades histricas de cada pas, esta
condio compartilhada de transio poltica, institucional e cultural
caracteriza o contexto em que germinaram diversas iniciativas e
modalidades de reformas conduzidas na Amrica Latina. As disputas em
torno da multiplicidade de significados envolvidos na experincia
democrtica, onde, dentre elas, figura os sentidos de atuao das agncias
policiais, impulsionaram e continuam a impulsionar o acmulo de reflexes
tericas sobre esta temtica.
Com o objetivo de somar em termos de elementos empricos para
as discusses sobre a reestruturao organizacional das polcias no Brasil
e na Amrica Latina, o relato que segue se prope iluminar preliminarmente
os obstculos e lies vivenciadas na co-produo de um processo de
reforma. A Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e o Viva
Rio, ONG carioca dedicada pesquisa e interveno na rea de segurana
pblica, tornaram-se parceiros nesta iniciativa, cujos desdobramentos ainda
esto sendo explorados.
Baseado na perspectiva de participao do Viva Rio no projeto
Desenvolvimento Institucional da Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro
3
,
o presente artigo prope algumas linhas de atuao para os processos de
reforma de instituies policiais, partindo de trs princpios estruturantes:
1) a conduo do processo precisa ser incorporada, enquanto
responsabilidade e valor, pelos gestores e demais membros da corporao
policial, representando os anseios e expectativas dos segmentos internos;
2) qualquer plano de reforma precisa encontrar pontos focais sobre os
quais articulem-se diversas problemticas diagnosticadas, desencadeando
desdobramentos indiretos sobre todo o sistema policial; 3) a ampla
participao da sociedade civil crucial para dar legitimidade ao processo,
influindo em sua conduo e participando ativamente na definio das
propostas.
Para uma melhor leitura desta experincia, com o intuito de
apresentar as principais lies e obstculos vivenciados, a primeira parte
deste artigo pretende situar o pblico em relao ao histrico e
metodologia empregada para a realizao do diagnstico institucional da
PMERJ. Em seguida, partindo dos desdobramentos do Seminrio A Polcia
que Queremos, sero apresentadas as principais propostas de reforma
para a corporao, onde se busca estabelecer alguns paralelos entre estes
Hayde Caruso
,
Luciane Patrcio
e Elizabete R. Albernaz
166
resultados e as grandes linhas da poltica nacional, previstas no Plano
Nacional de Segurana Pblica (PNSP, 2003).
RELATOS DE UMA EXPERINCIA: CONSTRUINDO O
DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DA PMERJ
4
Em meados de 2004, o Conselho Diretor do Viva Rio
5
props que
a equipe de pesquisadores da instituio elaborasse um estudo sobre a
situao da segurana pblica no estado do Rio de Janeiro, onde deveriam
constar propostas que pudessem servir de subsdios para o debate
eleitoral ao Governo do Estado em 2006.
O principal desafio estava em escolher por onde comear, tendo em
vista a impossibilidade de estudar, em to curto espao de tempo, todas as
instituies que compem o sistema de segurana pblica e justia criminal.
A Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) apareceu como
a melhor opo para dar o primeiro passo; principalmente pelo fato de
ser a instituio de segurana pblica de maior capilaridade no Estado,
visualmente identificada, porm pouco estudada e compreendida
6
. Outro
fator relevante foi a prpria experincia pregressa de cooperao entre o
Viva Rio e a PM, atravs dos diversos trabalhos desenvolvidos em parceria
ao longo dos ltimos anos, facilitando o dilogo necessrio para realizao
deste tipo de empreendimento.
Inicialmente, foram organizadas reunies de trabalho
7
onde tcnicos
do Viva Rio, representantes de seu Conselho Diretor e policiais militares
debatiam os problemas enfrentados pela PMERJ, sempre partindo de uma
agenda de temas definida pelos prprios policiais e equipe Viva Rio. Em
paralelo, o Comando da Corporao tambm estava organizando um
grupo de trabalho, que tinha por objetivo apresentar insumos para a
constituio de um novo Plano Diretor, estruturado em propostas de
curto, mdio e longo prazo.
O desafio estava em unir esforos em prol de um grupo misto de
trabalho, visando assim otimizar tempo e recursos. Esta proposta foi
levada ao comando da corporao e prontamente aceita
8
, fazendo com
que as reunies fossem unificadas e transferidas para o Quartel General
da PMERJ.
A Polcia que queremos: consideraes sobre o processo de
reforma da Polcia Militar do Rio de Janeiro
167
Assim, o primeiro grande obstculo ao processo havia sido
superado. Era preciso discutir a realidade da PMERJ com os seus prprios
integrantes, no interior de sua instituio. Romper com os pr-conceitos
de ambos os lados e construir um ambiente que propiciasse uma escuta
ativa, capaz de permitir aos PMs falar abertamente de seus dilemas,
resistncias e desafios e, em contrapartida, admitir que a equipe do Viva
Rio fizesse ponderaes sem medo de sofrer constrangimentos mostrou-
se crucial.
Como documentos referenciais para o incio do processo, optou-
se por recuperar o que a PM j havia produzido em prol de uma agenda
de mudanas institucionais. A surpresa foi constatar que, ao longo de sua
histria, o nico Plano Diretor encontrado datava de 1984. Foi produzido
sob a orientao e comando do Coronel Carlos Magno Nazar Cerqueira,
contedo que, entretanto, nunca foi implementado.
Impressionou a todos os envolvidos no processo, policiais ou civis,
a qualidade do documento e a atualidade de suas propostas. Entretanto,
ficava tambm patente um grande desconhecimento da prpria corporao
em relao ao Plano Diretor de 84. Somente um pequeno grupo de oficiais
conhecia-o em profundidade, tendo em vista ter, de alguma maneira,
participado de sua construo.
Aqueles que sob comando do Coronel Cerqueira eram tenentes e
capites, hoje esto nos postos mais altos da carreira policial militar e,
como se quisessem retomar o tempo perdido, propuseram ao Viva Rio a
atualizao do Plano Diretor da PMERJ. Todavia, passados tantos anos da
primeira edio, verificou-se a concreta necessidade de primeiro elaborar
um profundo diagnstico, que permitisse sustentar qualquer proposta de
mudana.
importante relembrar quem foi Carlos Magno Nazar Cerqueira:
o primeiro comandante de carreira policial militar a comandar a instituio,
rompendo com 175 anos de histria onde Generais e Coronis do Exrcito
exerciam o alto comando da Corporao. Cerqueira foi tambm o primeiro
policial negro a assumir tal posto. Sua trajetria profissional chama ateno
por seu amplo interesse em dialogar com o mundo acadmico e com a
sociedade civil organizada, rompendo barreiras e propondo um dilogo
entre universos tradicionalmente distantes e antagnicos.
Hayde Caruso
,
Luciane Patrcio
e Elizabete R. Albernaz
168
Em sua gesto, a Polcia Militar publicou seus principais documentos
de referncia, utilizados at os dias atuais, mesmo datados de antes da
promulgao da Constituio de 1988. Como exemplo, destaca-se o
Manual Bsico do Policial Militar, publicado em 1987 e at a presente data
sem atualizao. Sua preocupao em elaborar estudos que gerassem
publicaes extrapolou o ambiente intramuros dos quartis e ganhou o
mundo acadmico com a Coleo Polcia Amanh, elaborada pelo Instituto
Carioca de Criminologia com apoio da Fundao Ford
9
.
Diante do objetivo preliminar de elaborar um amplo diagnstico
institucional da PMERJ, foi definida a metodologia de trabalho, que previu
encontros semanais com os responsveis pelas polticas setoriais da
corporao. Em cada encontro o roteiro proposto focava: a) apresentao
do cenrio atual, b) problemas enfrentados e c) propostas de melhoria
para o seu setor.
Ao longo do processo de consulta, mostrou-se necessrio ampliar
o foco da pesquisa, partindo para a realizao de entrevistas em
profundidade com atores-chave, dentro e fora da corporao, e grupos
focais, a fim de contemplar tambm a perspectiva dos praas
10
e dos
profissionais de sade
11
.
Os dados produzidos pelo diagnstico foram analisados pela equipe
tcnica do Viva Rio luz de um amplo levantamento bibliogrfico sobre o
que hoje existe em termos de estudos, nacionais e internacionais, de
reformas institucionais de polcia. Foram consultados tambm os
documentos oficiais da PMERJ e das demais Polcias Militares do pas.
Todo este material foi consolidado no documento Diagnstico
Institucional da Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro, estruturado
em trs grandes eixos temticos: 1) A PMERJ e o Estado 2) A PMERJ e a
Corporao; 3) A PMERJ e a Sociedade. Este documento foi entregue ao
Comando Geral da corporao em dezembro de 2005.
A partir da consolidao destas informaes, o grande desafio estava
em construir propostas que dialogassem com a realidade institucional
delineada pelo diagnstico. Na perspectiva de quem atuou na
sistematizao das informaes, este seria o principal desafio que a PMERJ
iria enfrentar. Isto porque, ao longo de todo o processo de consulta, os
A Polcia que queremos: consideraes sobre o processo de
reforma da Polcia Militar do Rio de Janeiro
169
atores acionados apresentavam com clareza os problemas enfrentados.
Todavia, no momento da proposio de alternativas para solucionar tais
problemas havia enorme dificuldade em construir concretamente uma
ao. Tal fato foi constatado tanto no crculo de oficiais quanto no crculo
dos praas.
Outras resistncias foram constatadas e devem aqui ser pontuadas.
Em muitos momentos, a alta rotatividade dos cargos de chefia atrapalhou
a conduo das atividades. A principal razo, dada a grande movimentao
de policiais entre as diretorias e setores da corporao, era a lacuna de
conhecimento mais aprofundado sobre a rea investigada, prejudicando o
mapeamento setorial.
A realizao de um diagnstico desta magnitude, numa instituio
de larga escala como a PMERJ, pressupe a adeso de seus atores, fato
que, por algumas vezes, no ocorreu, exigindo esforos redobrados de
convencimento sobre a relevncia do processo.
Outro aspecto que por vezes dificultou o trabalho refere-se falta
de informaes sistematizadas e centralizadas. Cada setor produz diversos
tipos de dados no sistematizados e, portanto, incapazes de gerar
informaes teis para a tomada de deciso. Esta dificuldade foi sentida
com maior fora quando o Viva Rio props um estudo complementar ao
diagnstico institucional que focasse a sade do policial militar, em especial,
as causas geradoras de altos ndices de policiais militares mortos e feridos
em folga ou em servio. Neste caso, parte das informaes necessrias
estava armazenada no setor de pessoal, outra parte no setor de sade e
ambos no dialogavam em prol da sistematizao de tais informaes.
A atuao de uma organizao no governamental como facilitadora
do processo de coleta de informaes tambm no foi algo trivial. Muitas
resistncias e desconfianas surgiram, traduzindo-se em dificuldades em
conversar com determinados setores, ou melhor, com determinados
atores, que relutavam em expor a corporao para uma entidade que,
aos olhos de alguns, defendia exclusivamente os direitos humanos dos
bandidos ou que, na arena pblica s se colocava contra a PMERJ, fazendo
crticas e cobranas.
Obviamente, a construo da legitimidade do Viva Rio na facilitao
Hayde Caruso
,
Luciane Patrcio
e Elizabete R. Albernaz
170
deste processo ocorreu de modo gradual, mas no consensual. Todavia,
importantes passos foram dados, resultando no dilogo com setores at
ento distantes. A opo institucional do Viva Rio foi contribuir com a
sistematizao e redao do documento, a partir do que os integrantes
da corporao identificavam como relevante. Tal escolha visava a construir
consensos sobre o que seria escrito e garantir que todos os consultados
se sentissem co-produtores desse investimento. Logo, a definio desse
lugar para o Viva Rio em muito facilitou a aceitao desse trabalho, fazendo
com que todos assumissem o diagnstico como produto da PMERJ e no
de uma organizao de fora da corporao.
O diagnstico institucional foi entregue oficialmente em dezembro
de 2005 e, passados alguns meses sem maiores desdobramentos desta
ao, eis que a PMERJ traz tona a discusso em torno das mudanas
institucionais, propondo que fosse criada uma comisso interna intitulada A
Polcia que Queremos. Esta comisso seria responsvel por conduzir
consultas junto ao pblico interno e externo para coletar propostas de
mudana com base no diagnstico previamente realizado. Posteriormente,
como desdobramento das atividades dessa comisso, foi realizado um
seminrio, onde as propostas apresentadas foram discutidas e sistematizadas.
Eis o passo desafiador dado pela PMERJ, fato sem precedente na
histria das polcias brasileiras, e que ser objeto de nosso prximo
assunto.
O SEMINRIO A POLCIA QUE QUEREMOS
Ainda que a proposta inicial do Projeto Desenvolvimento Institucional
da PMERJ enfocasse a elaborao de um Plano Diretor para a Polcia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, documento este que serviria como base
para pensar e projetar a instituio num espao de aproximadamente 10
anos, o que foi possvel perceber que essa experincia trouxe outros
desdobramentos.
Assim, diante dos resultados dos grupos de trabalho que foram
constitudos no seminrio A Polcia que Queremos, foi possvel perceber
analogias e traar paralelos entre o que os policiais militares e a populao
carioca estavam vislumbrando para a modernizao de sua polcia e o que
A Polcia que queremos: consideraes sobre o processo de
reforma da Polcia Militar do Rio de Janeiro
171
tem sido discutido em mbito federal nessa matria. Alm de pensar cada
setor estratgico da polcia militar a partir do debate em torno dos 10
eixos apresentados
12
, a metodologia proposta no evento pde evidenciar
que, para desencadear um processo de modernizao, seria preciso levar
em considerao no apenas aspectos estritamente comuns ao universo
policial, mas sua relao com as demais reas e rgos diretamente
interessados na promoo da segurana pblica.
O Seminrio A Polcia que Queremos! Compartilhando a Viso e
Construindo o Futuro! foi realizado pela Polcia Militar nos dias 18, 19 e
20 de julho de 2006. A metodologia foi dividida em trs momentos: o
primeiro contou com a participao de todos os crculos hierrquicos da
PMERJ, atravs da coleta de dados (sugestes) em todas as unidades da
Polcia Militar. O segundo, realizado paralelamente, contou com a
participao da sociedade civil, tanto atravs da realizao de reunies
com grupos representativos, como da coleta de sugestes atravs de um
formulrio eletrnico
13
, onde qualquer pessoa pde enviar sugestes
dentre os 10 eixos apresentados. E, finalmente, o terceiro momento,
construdo no seminrio, onde os grupos temticos
14
tinham como
objetivo discutir os temas em torno das propostas previamente levantadas
no pblico interno e externo.
O documento organizado como produto do seminrio reuniu cerca
de 300 propostas. Ao final do evento, a Polcia Militar fez a entrega de seu
Relatrio Final aos candidatos ao Executivo estadual do Rio de Janeiro, de
modo que pudessem ter conhecimento dos anseios da instituio e da
sociedade civil e planejassem suas propostas de governo luz dos
resultados do seminrio.
CONSTRUINDO UMA AGENDA DE SEGURANA PBLICA PARA O
RIO DE JANEIRO
O Plano Nacional de Segurana Pblica do Governo Federal (PNSP),
documento lanado pela Secretaria Nacional de Segurana Pblica (SENASP)
do Ministrio da Justia, dedica, dentre os pontos apresentados em seu
contedo, boa parte ao universo policial e especialmente Polcia Militar.
Segundo o PNSP, um dos requisitos fundamentais para a implantao
de um processo de cultura de paz, a modernizao das instituies
Hayde Caruso
,
Luciane Patrcio
e Elizabete R. Albernaz
172
policiais, cuja transformao necessariamente passa pela reviso de seus
valores, de sua identidade institucional, de sua cultura profissional e de
seus padres de comportamento.
Dentre os pontos levantados pelo Plano, direcionados
especialmente Polcia Militar, possvel destacar:
qualificao do Policiamento Ostensivo;
reformulao dos regulamentos disciplinares;
diminuio dos graus hierrquicos;
controle rigoroso do uso da fora letal (arma de fogo);
reduo do efetivo nas funes administrativas.
Traando um paralelo entre o PNSP, ou seja, a poltica proposta
nacionalmente no que tange a segurana pblica, e as propostas
apresentadas no seminrio, possvel perceber, em primeiro lugar, que
muitas das reivindicaes e necessidades apontadas no interior da PMERJ,
de alguma forma j tinham sido indicadas no documento da SENASP. No
conjunto das propostas que dialogam diretamente com os pontos acima
apresentados pode-se destacar:
criao de equivalncia dos Cursos de Formao de
Praas (Soldados, Cabos e Sargentos) e dos Cursos
de Formao de Oficiais a cursos tcnicos (no caso de
praas) e a curso superior, no caso dos oficiais;
imposio de rgido cumprimento de cargas horrias
de cursos de formao, de modo a acabar com uso
operacional de pessoal em formao, salvo em
situaes excepcionais ou em funes de estgio;
criao de Ncleo de Instruo em Defesa Pessoal e
Uso Comedido da Fora;
criao de corpo (fixo) de Instrutores Civis e Militares,
remunerados atravs de encargos especiais;
valorizao da filosofia e expanso do programa de
policiamento comunitrio;
A Polcia que queremos: consideraes sobre o processo de
reforma da Polcia Militar do Rio de Janeiro
173
priorizao da reviso e reformulao da legislao
referente aos processos administrativos disciplinares
e ao Regulamento Disciplinar da PMERJ, promovendo
a compatibilizao com a ordem constitucional
(garantias individuais) e com os anseios sociais (pronta
resposta institucional);
incluso formal das entidades de classe para a
discusso, na assemblia legislativa, do Regulamento
Disciplinar da Polcia Militar;
criao de instrumentos institucionais de controle
efetivo da letalidade policial em ocorrncias que
resultem em confrontos armados, sejam aqueles
envolvendo a letalidade de civis ou de policiais. Para
tanto, seria fundamental a criao de um banco de
dados com informaes precisas sobre este tipo de
ocorrncias;
necessidade de acompanhamento psicolgico ex officio
do PM envolvido em ocorrncias de confronto armado
com mortos e/ou feridos;
criao de mecanismos de administrao e controle
no uso de munies, armamento e viaturas.
interessante destacar tambm que muitas foram as propostas
que tinham como objetivo criar instrumentos institucionais internos que
qualificassem o servio policial. Nesse aspecto, destacam-se os seguintes:
criao de uma Escola de Inteligncia, que assumiria
toda parte educacional do Sistema de Inteligncia da
PMERJ, vinculada a Diretoria de Ensino e Instruo;
descentralizao das reas Integradas de Segurana
Pblica (AISPs), tornando-as menores, mais
homogneas, em maior nmero. A cada AISP deve
corresponder a rea de ao de uma Companhia da
PM e a circunscrio de uma Delegacia de Polcia;
utilizao do geoprocessamento nas reas integradas
de segurana pblica;
Hayde Caruso
,
Luciane Patrcio
e Elizabete R. Albernaz
174
utilizao de indicadores de avaliao quantitativos e
qualitativos, que no se restrinjam a apreenso de
armas, drogas e prises efetuadas, buscando incorporar
outros indicadores que contemplem outras dimenses
da ao policial;
integrao no mesmo ambiente fsico dos mecanismos
de atendimento da Polcia Militar, Civil, Rodoviria
Federal, Corpo de Bombeiros Militar, entre outros;
criao, na PMERJ, dos Servios de Sade
Ocupacional, Promoo da Sade e de Epidemiologia
e Estatstica;
criar Programa de Vigilncia de Riscos, para prevenir
e reduzir vitimizao de policiais (por causas externas
ferimentos e mortes, em servio ou folga, intencional
ou acidental e por causas internas problemas de
sade, fsica ou psicolgica);
criao de um sistema de dados com as informaes
de todos os policiais de forma acessvel para todas as
Unidades, visando a integrar as informaes de diversos
rgos, hoje descentralizadas;
valorizao e disseminao de modalidades alternativas
de resoluo de conflitos, que no estejam pautadas
no enfrentamento pontual e repressivo;
lavratura de Termos Circunstanciados pela Polcia
Militar, conforme determina a Lei n 9099/95.
Por outro lado, importante ressaltar que muitos foram os pontos
apresentados que evidenciam a necessidade da aproximao entre a polcia
e a sociedade, seja com a populao no dia a dia, seja atravs de convnios
e parcerias com centros de produo de conhecimento, como
universidades e institutos de pesquisa. Neste sentido, observa-se a:
criao de uma linha de estudo na rea de Inteligncia,
de modo a fomentar uma discusso sobre inteligncia,
frum no qual participaro o pblico interno e externo;
A Polcia que queremos: consideraes sobre o processo de
reforma da Polcia Militar do Rio de Janeiro
175
dinamizao do telefone 190 e realizao de
campanhas educativas para o cidado quanto ao bom
uso do sistema;
estabelecimento de parceria com a imprensa, de
modo pr ativo;
reunio sistemtica de especialistas e pesquisadores
policiais e no-policiais para elaborar indicadores de
avaliao do trabalho policial;
realizao de pesquisas de vitimizao a fim de
identificar a sensao de segurana das pessoas e sua
relao com a imagem da polcia;
incluso nos critrios de ascenso profissional,
pontuaes que valorizem aes policiais voltadas para
a promoo da cidadania e a garantia dos direitos
constitucionais;
criao de uma poltica de segurana cidad que deve
reconhecer e respeitar o cidado como sujeito de
direitos;
fortalecer os canais de cooperao entre a polcia e a
sociedade, tais como Conselhos Comunitrios de
Segurana;
insero na prtica policial da mediao de conflitos e
do dilogo com a comunidade, viabilizando a sua co-
participao nas polticas de segurana;
criao de estratgias regulares de prestao de
contas sociedade;
envolvimento das universidades e centros de pesquisa
no processo de melhoria da polcia.
E, finalmente, em que pese o esforo de construir um conjunto
sugestes para a modernizao policial militar, muitas foram as propostas
relacionadas a questes mais amplas na agenda de segurana pblica, cujo
foco principal no seria a PM, mas o sistema de uma maneira geral, evidenciando
Hayde Caruso
,
Luciane Patrcio
e Elizabete R. Albernaz
176
que o processo de modernizao de uma instituio policial necessariamente
apontar para questes mais estruturais nesta rea. So elas:
criao de uma regulamentao que proba o
secretrio de segurana de se candidatar a cargos
polticos imediatamente aps a sua sada do governo;
realizao efetiva de um trabalho integrado entre
estados e municpios, de modo a investir nos problemas
de ordenamento pblico;
integrao entre a Polcia Militar e a Polcia Civil.
Vale lembrar que um passo fundamental para iniciar qualquer
processo de mudana a elaborao de um diagnstico que subsidie a
construo de uma poltica pblica. Um diagnstico que contemple
informaes qualificadas e consistentes, que rena dados quantitativos e
qualitativos. Um bom diagnstico, com dados confiveis e elaborado com
rigor cientfico, o primeiro passo para a concepo de uma poltica e,
com esta, o planejamento das aes e a definio de metas claras e de
indicadores de avaliao.
Seguindo o mesmo raciocnio e reconhecendo a importncia da
qualificao e elaborao de uma pesquisa que indique pontos nevrlgicos
na instituio policial militar, dentre o conjunto de propostas includas no
documento final do seminrio, foi definida uma Ao Preliminar: a elaborao
de um censo da Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esta iniciativa
serviria como fonte de informao no apenas para a construo de uma
nova poltica de pessoal, como tambm para inaugurar uma cultura de
valorizao e qualificao da informao, reunidos num banco de dados
que reflita o universo da Polcia Militar, facilitando assim o planejamento de
suas aes.
Passado mais de um ano, possvel constatar que o censo
institucional, definido como prioridade inicial, ainda no foi desenvolvido
conforme previsto. Entretanto, algumas das aes comearam a ser
executadas, mesmo que de modo pontual, como, por exemplo, a criao
de instrumentos institucionais de controle da letalidade policial e a
reformulao do currculo do curso de formao de oficiais, com vistas a
transform-lo num curso de graduao em segurana pblica. Tais aes,
A Polcia que queremos: consideraes sobre o processo de
reforma da Polcia Militar do Rio de Janeiro
177
no entanto, no guardam entre si uma linha de trabalho comum de maneira
a representar um processo sistmico de mudana institucional.
Bibliografia
ARAJO FILHO, Wilson. 2003. Ordem pblica ou ordem unida? Uma anlise do curso de
formao de soldados da Polcia Militar em composio com a poltica de segurana pblica
do governo do Estado do Rio de Janeiro. In: Polticas Pblicas de Justia Criminal e Segurana
Pblica. EDUFF.
BRETAS, Marcos Luiz. 1997. A Guerra das ruas: povo e polcia na cidade do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro. Arquivo Nacional.
FRHLING, Hugo. 2003. Polica Comunitaria y Reforma Policial en Amrica Latina. Cul
es el impacto?. Srie Documentos do Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de
Asuntos Pblicos de la Universidad de Chile.
HOLLOWAY, Thomas H. 1997. Polcia no Rio de Janeiro. Represso e resistncia em uma
cidade do sculo XIX. Rio de Janeiro. Fundao Getlio Vargas.
KANT DE LIMA, Roberto. 1995. A polcia na cidade do Rio de Janeiro. Ed.Forense.
MUNIZ, Jacqueline. 2001. A Crise de Identidade das Polcias Militares Brasileiras: dilemas
e paradoxos da formao educacional. Security and Defense Studies Review. Vol. 1. Washington,
DC.
MUNIZ, Jacqueline. Ser Policial sobretudo uma razo de ser. Cultura e cotidiano da Polcia
Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tese de Doutoramento em Cincia Poltica. IUPERJ. 1999.
_______________. 2002. Recomendaes para a Reforma Policial na Amrica Latina.
PONCIONI, Paula. 2004. Tornar-se policial: a construo da identidade profissional do policial
do estado do Rio de Janeiro, Tese de doutoramento em Sociologia, USP.
DA SILVA, Jorge. 2005. Violncia e identidade social: um estudo comparativo sobre a atuao
policial em duas comunidades no Rio de Janeiro. Tese de doutoramento, UERJ.
Centro de Estudos de Segurana Cidad CESC, Santiago, Chile.
Diagnstico Institucional da PMERJ. Viva Rio, 2005. (no prelo)
Plano Nacional de Segurana Pblica. Secretaria Nacional de Segurana Pblica/Ministrio da
Justia, 2003.
Seminrio A Polcia que queremos! Compartilhando a viso e construindo o futuro. Relatrio
final consolidado. PMERJ, 2006
Notas
1
O relato aqui apresentado foi originalmente apresentado na coletnea Cadernos Adenauer,
Brasil: O que resta a fazer? Vol 3. Rio de Janeiro, 2006.
2
Vide exemplos: Projeto Integrao e Gesto da Segurana Pblica (IGESP), desenvolvido pelo
Centro de Estudos em Criminalidade e Segurana Pblica (CRISP-UFMG); Formao Integrada
de Policiais Militares e Policiais Civis da Polcia Militar do Estado de Pernambuco (PMPE), da
Polcia Militar do Estado do Paran (PMPR) e da Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro
(PMERJ), atravs do Curso de Polticas Pblicas em Justia Criminal e Segurana Pblica da
Universidade Federal Fluminense (UFF); iniciativas de interlocuo comunitria como os
Grupamentos de Policiamento em reas Especiais (GPAE-PMERJ), o Grupo Especializado de
Policiamento em reas de Risco (GEPAR-PMMG); iniciativas de valorizao policial como o
Prmio Policia Cidad, realizado pelo Instituto Sou da Paz.
Hayde Caruso
,
Luciane Patrcio
e Elizabete R. Albernaz
178
3
Projeto financiado pela Fundao Konrad Adenauer no perodo de 2005/2006.
4
A PMERJ possui 37502 policiais na ativa e 23 mil inativos. Fonte: PMERJ/PM1-2006.
5
O Conselho Diretor constitudo por integrantes de diversos segmentos representativos da
sociedade fluminense, tais como: empresrios, acadmicos, jornalistas, lideranas comunitrias,
esportistas, artistas entre outros.
6
Importantes referncias de estudos sobre a PMERJ so Bretas (1997), Holloway (1997), Muniz
(1999), Arajo Filho (2003), Poncioni (2004), Caruso (2004) e Silva (2005).
7
As reunies ocorreram na Assessoria de Planejamento, Organizao e Modernizao APOM
sob a coordenao logstica do chefe deste setor e coordenao operacional do CEL PM Ubiratan
ngelo, ento Diretor de Ensino e Instruo, atual Comandante Geral da corporao.
8
Foi publicada a criao do Grupo de Trabalho em Boletim Interno da PMERJ, principal
instrumento de comunicao da Instituio.
9
Destaca-se nesta coleo o ltimo volume, publicado aps a morte do Cel Cerqueira, e intitulado:
O futuro de uma iluso: o sonho de uma nova polcia. Esta obra encerra prematuramente a
carreira de um dos mais respeitveis oficiais de Polcia Militar no Brasil.
10
Os praas da PMERJ (soldados, cabos e sargentos) correspondem a 93% do efetivo da corporao.
Fonte: PM1/PMERJ-2005.
11
Foram consultados policiais mdicos e tambm profissionais civis que atuam na rea de
sade.
12
Eixo 01: Pessoal; Eixo 02: Ensino e Instruo; Eixo 03: Inteligncia; Eixo 04: Operacional; Eixo
05: Comunicao Social; Eixo 06: Apoio Logstico; Eixo 07: Oramento e Finanas; Eixo 08:
Sade; Eixo 09: Controle Interno; Eixo 10: Modernizao Administrativa e Tecnolgica e Eixo 11:
Viso do Cliente. Vale destacar que sobre o eixo 11, a proposta era levantar junto sociedade
civil sugestes acerca de todos os eixos previamente elencados.
13
O endereo eletrnico para acessar o formulrio foi www.apoliciaquequeremos.com.br. A
divulgao do mesmo foi realizada atravs da confeco de spots de servio com durao de 30
segundos, veiculado pela TV Globo e algumas emissoras de TV. Foram recolhidas cerca de 5.000
propostas pela internet.
14
Foram formados grupos temticos compostos, tanto por representantes da sociedade civil,
quanto por membros da corporao policial militar. Embora tenham sido concebidos enquanto
grupos mistos, a representatividade da sociedade civil em alguns temas foi limitada, bem como
de representantes do crculo dos praas.
A Polcia que queremos: consideraes sobre o processo de
reforma da Polcia Militar do Rio de Janeiro
179
V
E
N
E
Z
U
E
L
A
Comunicao
REFORMA POLICIAL NA VENEZUELA: UMA
EXPERINCIA EM CURSO
Soraya El Achkar*
INTRODUO
Esta apresentao de trabalho pretende apresentar a experincia
venezuelana a respeito dos processos de reforma policial: propsitos,
plano de ao, metodologia de trabalho, principais resultados, perspectivas
e reflexes sobre os processos de reforma policial na Amrica Latina.
de conhecimento comum que os propsitos de reforma policial
estiveram vinculados idia de melhoras no servio policial, de diminuir
as violaes aos direitos humanos, otimizar a contribuio da polcia para
o sistema judicial, desenhar instncias de inspeo da polcia e,
fundamentalmente, expectativa que tem a populao de reduzir os
delitos. Entretanto, os especialistas coincidem em indicar que ainda que
tenham sido gerados processos de reforma em quase todos os pases da
regio, ainda h muito a fazer porque no foram cumpridos os propsitos.
Depois de mais de duas dcadas de reformas policiais na Amrica
Latina, entendemos que um processo contnuo, cclico e inclusive
inesgotvel, que requer permanentes arranjos a partir de uma viso de longo
prazo e que, alm disso, deve ser resultado do consenso social e sempre
estar ajustado s variaes na percepo social dos aspectos fundamentais.
Todos os especialistas coincidem em indicar que a reforma policial
implica a formao de novas atitudes, aptides e comportamentos por
parte de todos os membros da polcia, que conduzam a uma nova forma
de pensar, a novos enfoques e a novos mecanismos de feedback para
supervisionar e avaliar objetivamente o desempenho policial. Mas, alm
disso, implica um processo de mudanas de comportamento da populao
em geral, dos atores polticos e das autoridades civis. Por isso, os efeitos
de qualquer reforma no podero ser vistos em um prazo to curto.
Todas as exposies na oficina de especialistas na Venezuela a respeito
da reforma policial coincidem em indicar que um processo de reforma tem
* Licenciada Soraya El Achkar. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
sucesso, duradouro e sustentvel se convergem trs atores chave:
180
1. o Estado, mediante uma clara poltica pblica que
trace uma orientao a longo prazo e estabelea os
compromissos econmicos, polticos e jurdicos para
torn-la sustentvel;
2. os rgos vinculados segurana pblica, que so
parte ativa da reforma e assumem o compromisso e
participam como agentes tcnicos em sua
implementao. Os policiais, defensores, fiscais e juzes
devem impulsionar um plano de reforma integral de
todo o sistema de segurana pblica;
3. a sociedade, as suas organizaes, as comunidades
locais, que assumem o seu papel de participao e
controle, aproveitando os espaos que so gerados.
(El Achkar e Gabaldn; 2006)
Eu acrescentaria que ainda assim no suficiente que haja participao
dos diferentes atores e sim que ocorram mudanas nas formas culturais
do poder da polcia. E ainda que evidente que todo modelo de polcia
deve ser desenhado sobre a base do modelo de Estado e das polticas
que tenham sido formuladas sobre segurana pblica. definitivamente
inegvel que o modelo contemple dispositivos que irrompam prticas
culturais que geraram um poder da polcia diludo em mltiplas ilegalidades.
Os especialistas asseguram que os processos de reforma policial
devem incluir os seguintes componentes: reforma do marco legal para
definir o mandato da polcia; os sistemas de organizao, funcionamento e
disperso territorial; infra-estrutura, equipamentos e tecnologia; recursos
humanos; sistema de seleo e educao; oramentos; comunicao e
informao; participao e controle social. No obstante, nenhuma reforma
pode dar resultado e ser sustentvel no tempo caso no se consiga
identificar as prticas institucionais no formais que foram criando uma
cultura policial, que configura uma particular forma de relacionar-se com
o sistema judicial e de exercer governana, porque toda mudana s
possvel se feita a partir de mudanas da rotina e se reorientam as prticas
institucionais no formais.
Porm, alm disso, necessrio que haja certas condies
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
181
polticas e sociais para que os processos de reforma sejam possveis e
sustentveis no tempo:
1. um plano de ao racional e consensual, que acolha
as aspiraes mais sentidas tanto pelos policiais quanto
pela populao em geral, assim como o modelo
democrtico a ser construdo a partir de regras
constitucionais;
2. clara e sustentada vontade pblica e oramentria
para que, independentemente das mudanas dos atores
polticos, se possa seguir o plano de ao acordado;
3. uma opinio pblica que se mantenha pressionando
a reforma, que estimule a vontade poltica, gere
informao suficiente sobre o processo de reforma
para que a populao se aproprie do mencionado
processo e promova uma matriz a favor das mudanas
institucionais necessrias;
4. uma equipe de trabalho onde confluam atores
polticos e pessoal tcnico especializado, interno e
externo para a instituio policial, que seja uma equipe
estvel, que no se submeta ao vai-e-vem das mudanas
polticas, de tal modo que possa ir acumulando
conhecimentos na rea;
5. informar permanentemente sobre todo o processo
de reforma a opinio pblica, os policiais, os outros
componentes do sistema de segurana pblica, para
que possam ser corrigidas as medidas tomadas (no
caso de erro) ou implementadas com maior facilidade
(no caso de acertos);
6. recomenda-se que toda reforma esteja
acompanhada de medidas de preveno social que
contribuam para reduzir os graves problemas de
segurana cidad sem comprometer o programa de
minimizao da violncia e aumento da prestao de
contas para a polcia.
Soraya El Achkar
182
Asseguraram na oficina de especialistas na Venezuela que as
reformas policiais deveriam indicar configurao de uma polcia como
um meio de fora moderada para a criao de alternativas pacficas,
de obedincia sobre a base da aceitao social, uma polcia como
instrumento de administrao e mediao de conflitos; em oposio a
qualquer vontade dentro da ordem social, cuja autoridade no
negoci vel , o que requer i ndependnci a e, ao mesmo tempo,
subordinao a princpios e regras.
Em todo caso, as reformas policiais continuam sendo um desafio
para todos os pases da regio e ainda que hoje tenhamos conhecimento
acumulado que nos permite pensar em processos de reforma de forma
mais acertada, invivel se, em qualquer tentativa que faamos,
primeiro o fazemos com especialistas estrangeiros: segundo, sem
funcionrios policiais convencidos e preparados para assumir tal
desafio; e por ltimo, sem uma populao capaz de se mobilizar a
favor da mencionada reforma. Por isso, to importante qualquer esforo
que seja feito para:
1. gerar espaos de dilogo reflexivo com funcionrios
e funcionrias policiais da regio sobre todas as arestas
da segurana pblica e da democracia, os direitos
humanos, o enfoque de gnero, os processos de
reforma policial, entre outros temas to importantes
para a promoo de uma cultura de justia e paz;
2. a criao de redes que funcionem de forma
coordenada e ensaiem mecanismos de articulao com
a sociedade civil a favor dos processos da reforma do
setor de segurana na regio continua, por enquanto,
sendo um desafio para a justia e a paz.
CONTEXTO
O registro sistemtico que as organizaes de direitos humanos
fizeram durante mais de trs dcadas nos permite afirmar, sem duvidar,
que na Venezuela as corporaes policiais e militares violam os direitos
humanos e que esto arraigados mecanismos de impunidade que impedem
a justa sano dos responsveis por estas violaes. Uma evidncia disso
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
183
so os dados que foram lanados nos ltimos 16 anos pelos relatrios de
PROVEA. Uma mdia ponderada anual de 15 pessoas falecidas
mensalmente nas mos de funcionrios policiais
1
.
Pesquisa prpria
Por sua parte, a Rede de Apoio Justia e Paz (outra das
organizaes no-governamentais de direitos humanos) atendeu e
assessorou durante o qinqnio 2000-2005 361 casos onde o direito
vida, integridade fsica, inviolabilidade do lar ou liberdade pessoal
foram vulnerados pelos organismos encarregados da segurana pblica.
A Assemblia Nacional Constituinte (1999) conseguiu ampliar o
captulo de direitos humanos e garantias constitucionais e o governo, desde
ento, manteve um discurso a favor do respeito aos direitos fundamentais.
No entanto, na prtica, no foram impulsionadas as reformas necessrias
em matria de segurana e com relao s instituies policiais para reverter
a violncia institucional que atenta contra a dignidade humana e enfraquece
o Estado de direito.
Atravs dos casos atendidos na Rede de Apoio, pde ser realizada
uma pesquisa documental sobre os padres das violaes aos direitos
humanos e os mecanismos de impunidade durante o perodo 1985-1999.
Esta pesquisa, publicada no ano 2004, revela que todas as corporaes
de segurana (as de carter nacional, estadual e municipal) tiveram
responsabilidade nas violaes aos direitos humanos. Mais de 90% das
vtimas so homens, entre os 15 e os 24 anos, de pele morena, residentes
em setores populares, com ofcios variados, estudantes, trabalhadores.
Soraya El Achkar
184
Estas violaes, cujas causas so muitas vezes desconhecidas, so de
responsabilidade de policiais no exerccio de suas funes e estes graves
acontecimentos costumam ocorrer na rua ou em centros policiais com
aquiescncia de funcionrios da alta hierarquia.
Os padres de atuao mais comuns, segundo esta pesquisa, so: o
uso desproporcional, indiscriminado, discricionrio da fora; a negligncia
e impercia no uso das armas de fogo; os mltiplos e aberrantes mtodos
de tortura; as ameaas e a fustigao; a simulao de execues, as
detenes arbitrrias; as invases ilegais; a demora nas transferncias das
pessoas feridas aos centros de sade depois de t-las ferido; os disparos
para o ar; a adulterao dos cartuchos; o porte de armas ilegais e de
entorpecentes. Os funcionrios de um modo geral, quando fazem estes
procedimentos, no costumam portar sua identificao corretamente e,
pelo contrrio, cobrem os rostos com capuzes.
O diagnstico indica que so graves tambm as conseqncias destas
prticas vexatrias e alude: ao menosprezo pela confiana do pblico no
Estado de direito; ao agravamento do mal-estar social; reduo da eficcia
dos processos judiciais; separao e ao isolamento da polcia de sua
comunidade; deformao do conceito de aplicao da lei, privando-a de
toda licitude; ao enfraquecimento das instituies e do sistema
democrtico; ao medo, raiva, aos desejos de vingana no corao das
pessoas, que condicionam o seu comportamento social.
A Rede de Apoio indicou em uma sistematizao publicada no ano
de 2004, onde se rene um dilogo entre ativistas de direitos humanos e
polcias, que o diagnstico que foi feito nestes ltimos anos, a partitr de
diferentes setores da sociedade e do governo nacional, coincide em
apresentar um servio de polcia incapaz de garantir a segurana cidad e
o livre exerccio dos direitos e liberdades fundamentais. O mencionado
diagnstico se refere a: incapacidade estrutural de coordenao entre as
diferentes corporaes de segurana pblica; falta de controle externo
sobre as suas atividades; confuso dos critrios de eficcia e eficincia
com os de liberdade de ao; militarizao em todos os nveis dos servios
que so essencialmente civis; corrupo e ausncia de mecanismos de
prestao de contas perante a populao; aes violentas para o controle
da criminalidade; ausncia de polticas preventivas e de pesquisa da
criminalidade; uma viso do problema centrado no agente e no na
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
185
instituio; pouca capacidade de reunir informao e fazer anlises
estatsticas sobre criminalidade;, desdobramento irregular de efetivos na
cidade, com planos de efeito pouco confiveis; baixos nveis de treinamento;
condies precrias de trabalho e instabilidade no trabalho; regulamentos
internos fora da legalidade; uma estrutura gerencial excessivamente rgida;
uma formao militarizada e violenta, que atenta contra os direitos
humanos. Vale dizer que o diagnstico coloca em evidncia o fracasso na
configurao de um servio de polcia que responda s demandas de
segurana pblica.
Depois da Constituinte de 1999, e com a aprovao das primeiras
leis habilitadoras no ano de 2001, a sociedade venezuelana ficou polarizada
em duas frentes polticas antagnicas e esta polarizao, caracterizada
pela radicalizao das posturas dos grupos e pela mtua negao e
excluso, exacerbou os enfrentamentos simblico-discursivos e fsicos,
frente aos quais muitas das corporaes de segurana no deram
respostas imparciais. A instrumentalizao das corporaes de segurana
por parte dos governos da vez enfraqueceram as instituies policiais,
tirando-lhes a sua funo original de proteger a cidadania para impor-
lhes a tarefa de defender o Estado e os interesses de setores polticos
ou do governo.
Apesar das muitas tentativas na histria da humanidade de diminuir
os nveis de violncia e de alcanar formas de comportamento policial
que no atentem contra a dignidade humana, no conseguimos que a polcia
seja uma instituio que respeite os direitos humanos. Vejamos os esforos.
1. O mandamento de Deus amem-se uns aos outros, que est
sustentado na capacidade de melhorar moralmente.
2. A capacidade que supostamente, temos, os seres humanos, de
auto-controle ou exerccio de autonomia.
3. O desenho de sistemas de governo democrtico cuja
caracterstica principal o Estado de direito, o qual implica:
a) ter normas que, em teoria, so expresso da vontade
popular, evitam a discricionariedade, proporcionam
informaes sobre as condutas dos sujeitos em marcos
Soraya El Achkar
186
institucionais e, principalmente, que tenhamos que usar
a violncia para resolver nossos conflitos;
b) uma separao de poderes e mecanismos
institucionais para que uns poderes controlem os outros;
c) a consagrao constitucional da responsabilidade
administrativa, civil e poltica das autoridades;
d) a disposio dos direitos humanos no ordenamento
jurdico interno e os mecanismos para a sua defesa.
4. A existncia da opinio pblica que se estabelece como uma
conscincia crtica, um tribunal moral contra as violaes aos direitos
humanos, que exige aos que decidem reverter as polticas, fazer corretivos
institucionais.
5. Os argumentos da razo ou princpios pelos quais se apela para
legislar como so: a no discriminao; o uso adequado e proporcional da
fora; o respeito das garantias do detido; a eficcia policial, que deve ser
exercida com respeito ao Direito; a proteo s vtimas; a desobedincia
a ordens ilegais e arbitrrias.
No caso venezuelano, nenhum dos esforos anteriores foi suficiente,
como tampouco foi suficiente o trnsito para democracia com a aprovao
da Constituio de 1961, nem uma nova Assemblia Nacional Constituinte
realizada em 1999, na qual feito um reconhecimento especial do tema
dos direitos humanos em todas as reas da vida social. Tanto em situaes
cotidianas normais, como em meio a graves conflitos sociais e polticos,
as instituies encarregadas de velar pela proteo da segurana no
responderam com o critrio profissional e tico que se espera delas em
regimes democrticos.
No ano passado (2006), a imprensa nacional revelou um par de
acontecimentos de seqestros onde funcionrios policiais, de diferentes
corporaes, estiveram envolvidos. O primeiro referido a um empresrio
muito conhecido de nome Filippo Sindoni do estado de Aragua, que foi
assassinado, e o segundo caso o seqestro, durante mais de 40 dias,
dos irmos Faddoul Diab e do motorista Miguel Rivas, que tambm foram
encontrados mortos.
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
187
REFORMA POLICIAL NA VENEZUELA:
A COMISSO
O Ministro do Interior, o engenheiro Jesse Cahcn, tomou a iniciativa
de formar uma ampla comisso dedicada construo de um novo modelo
policial e apresentar ao pas um caminho para a reforma policial. Esta
comisso era formada por representantes do: Ministrio do Interior e da
Justia, Tribunal Supremo de Justia, Assemblia Nacional, prefeituras e
governos, Defensoria Pblica, Ministrio Pblico, Corpo de Inquritos
Cientficos Penais e de Criminalstica, principais universidades com centros
de pesquisa na rea criminal, igreja, empresariado e grupos de direitos
humanos.
O objetivo geral da Comisso para a Reforma Policial foi a construo,
atravs de um processo de diagnstico e consulta ampla e participativa,
de um novo modelo de polcia para a sociedade venezuelana, mediante
um marco jurdico institucional e de gesto que permita conceb-la como
um servio pblico geral, orientado pelos princpios de permanncia,
eficincia, extenso, democracia e participao, controle de desempenho,
avaliao de acordo com processos e padres definidos e planejamento e
desenvolvimento em funo das necessidades nacionais, estatais e
municipais, dentro do marco da Constituio da Repblica Bolivariana da
Venezuela e dos tratados e princpios internacionais sobre proteo dos
direitos humanos.
Esta Comisso definiu alguns princpios de trabalho que guiaram o seu
plano de ao, o desenho das estratgias para a abordagem do problema e da
organizao de todas as atividades realizadas. Estes princpios so os seguintes:
a. participao, entendida como a mais ampla, plural e
democrtica consulta de todos os setores da vida
nacional para alcanar um acordo fundamental sobre o
novo modelo que se prope.
b. imparcialidade, entendendo que nesta tarefa deve
predominar o interesse coletivo, evitando a
subordinao a interesses particulares, o que supe
que o modelo policial deve ser entendido como um
assunto de Estado.
Soraya El Achkar
188
c. transparncia, entendida como a difuso e publicidade
dos achados, critrios e propostas, a fim de que sejam
amplamente conhecidos e debatidos pelos cidados e
instncias pblicas e privadas em nvel nacional.
d. co-responsabilidade, no entendimento de que a
segurana e a funo policial supem uma
responsabilidade compartilhada entre a sociedade civil
e o Estado.
PROPSITOS
Para alcanar o seu objetivo geral, a Comisso Nacional se props
trs tarefas fundamentais, que foram cumpridas cabalmente em um lapso
de nove (9) meses, com a orientao poltica e estratgica de 16
comissionados, os quais mantiveram 36 sesses de trabalho e uma
Secretaria Tcnica, que funcionou durante (6) meses, encarregada de
executar o mandato da Comisso e formada por um grupo de 30
funcionrios contratados e 50 pessoas contratadas para estudos ou tarefas
especficas:
1. elaborar um diagnstico geral da situao atual das
corporaes policiais no mbito nacional, regional e
municipal;
2. sugerir um modelo policial que possa se adequar s
condies sociais, culturais e polticas da Venezuela;
3. sugerir algumas recomendaes imediatas que
favoream a efetividade no servio policial, a diminuio
das violaes aos direitos humanos e o controle da
gesto policial com foco no desenho proposto.
EIXO TRANSVERSAL: A CONSULTA
A construo do modelo passou, necessariamente, pela consulta
sobre critrios para a definio da funo policial, das formas socialmente
aceitveis para exerc-la, dos pontos fortes e mecanismos mais adequados
para conseguir o seu funcionamento em consonncia com as necessidades
da comunidade. Nesse sentido, o plano de ao esteve articulado com
uma grande consulta nacional, desenvolvida mediante mecanismos difusos
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
189
(pginas da web, linhas de telefone gratuita e caixas fsicas) e mecanismos
concentrados (oficinas setoriais, foros temticos e mesas tcnicas), onde
participaram aproximadamente 70 mil pessoas opinando sobre temas policiais
especficos de interesse nacional, regional ou local, durante dois meses
consecutivos. Esta consulta foi acompanhada de uma campanha de difuso
para que todo o pas estivesse informado sobre os mecanismos de participao.
Esta consulta esteve orientada segundo 7 eixos temticos que
facilitaram a discusso sem prejuzo de outros tpicos que pudessem ser
levantados pelos participantes da consulta (El Achkar e Riveros 2007):
Uso da fora fsica
Se algo prprio da polcia o fato de que esta administra a fora
fsica. Quando se exerce de forma proporcional, para proteger as pessoas
diante de ameaas violentas e de delitos, um uso justo e adequado da
fora. Mas quando se exerce de forma desproporcional ou em situaes
nas quais no necessria, estamos diante do uso abusivo da fora. Por
isso, a consulta incluiu temas como: a regulao do uso da fora por parte
da polcia; os problemas vinculados ao uso da fora fsica; o treinamento
para o uso da fora fsica; o gradualismo e os princpios de excepcionalidade,
proporcionalidade e legalidade na aplicao da fora.
Corrupo
A corrupo a obteno de vantagens particulares ou para o grupo
de forma ilcita. Ainda que no seja exclusiva da polcia, existe consenso
em que, por mltiplos fatores, os organismos policiais esto muito
corrompidos, e isso se traduz em muitos abusos, no necessariamente
fsicos, contra os cidados e as cidads. Por esse motivo, a consulta incluiu
temas como: a identificao das diferentes formas de corrupo na polcia;
a relao entre corrupo policial e delinqncia; as estratgias, polticas
e estmulos institucionais e comunitrios para controlar e repreender a
corrupo na polcia; as causas da corrupo na polcia; e o encobrimento
como parte da cultural organizacional.
Cultura organizacional
Assim como nas famlias existem valores, princpios e regras no
escritas que definem e marcam cada uma delas, nas instituies existe
Soraya El Achkar
190
uma cultura organizacional, muitas vezes no escrita, mas que tem grande
incidncia no comportamento de seus membros. A cultura organizacional
da polcia foi analisada levando em considerao temas como: as polticas
de disciplina; a superviso, a obedincia e a discricionariedade dos
funcionrios e das funcionrias; o sentido de camaradagem e o apego
institucional; a autonomia e a permanncia diante das mudanas de governo.
Carreira policial
Ser policial uma carreira. Tanto porque necessrio estudar para
exercer essa importante funo, quanto porque possvel (com o tempo,
os conhecimentos, a experincia e os mritos) obter melhores cargos e
posies dentro da instituio. Em conseqncia, a consulta contemplou
temas como: as polticas de captao, seleo, incorporao e induo;
as polticas de reconhecimento, reforos, permanncia e fortalecimento
do sentido de pertencer instituio policial; as polticas de formao,
treinamento, capacitao e currculo acadmico; os sistemas de proteo
social do pessoal e os seus direitos trabalhistas; as polticas de avaliao
de desempenho e promoes; e as possibilidades de projeo e
desenvolvimento institucional.
Gesto e eficincia
Fazer com que a instituio funcione e que cumpra os seus objetivos
essencial para toda organizao. No caso da polcia, o seu correto
funcionamento implica maior segurana e proteo dos direitos das
pessoas. por isso que foram includos temas como: o aproveitamento
dos recursos; os indicadores para medir a criminalidade e avaliar a eficincia
do desempenho policial; a articulao da polcia com o sistema de justia
penal: as capacidades, aptides, habilidades e destrezas que constituem o
perfil de um funcionrio policial; a dotao de recursos para o adequado
desempenho da tarefa policial; a continuidade administrativa; e o vnculo
com a comunidade.
Prestao de contas
Toda instituio deve saber se est ou no cumprindo os seus
objetivos e metas. No caso da polcia, trata-se da proteo populao,
sem discriminao de qualquer tipo, atravs de diferentes vias. por isso
que a consulta abarcou: as formas efetivas de acompanhamento, avaliao,
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
191
diagnstico e controle; o controle interno e externo; a participao
comunitria na avaliao e no controle policial; a disciplina e as sanes.
Ateno s vtimas
As vtimas podem ser aquelas pessoas afetadas pela delinqncia e
aquelas afetadas pela prpria atuao policial inadequada. Assim que este
eixo contemplou temas como: o abuso de poder; a compensao e a
indenizao s vtimas, a proteo contra retaliaes; a mediao e
resoluo de conflitos; e o tratamento digno e respeitoso s vtimas da
delinqncia ou aos afetados pela prpria polcia.
Estrutura e competncias
Como se organiza e do que se encarrega a polcia um tema muito
importante no debate. Por isso, foram includos aspectos como: a
centralizao e a descentralizao das competncias; a efetividade e a
eficcia de cada estrutura organizacional; as competncias em situaes
normais e excepcionais; a autonomia da gesto e a necessidade da
coordenao policial inter-institucional.
Mecanismos de consulta
A consulta difusa:
A consulta difusa esteve dirigida a toda a populao e as
contribuies, opinies e/ou recomendaes foram realizadas mediante
perguntas abertas ou de seleo, com a participao individual, fluida e
confidencial. Trs mecanismos diferentes coletaram mais de 60 mil opinies
diferentes em todo o territrio nacional.
Uma pgina da Web que tinha espaos para fruns virtuais, outros
para responder uma pesquisa semi-aberta e espaos para que a Comisso
informasse sobre todas as suas atividades e os resultados prvios.
Cerca de 1000 caixas foram distribudas em todo o territrio
nacional (prefeituras, governos, corporaes policiais, principais registros,
tabelionatos, bancos, farmcias, centros comerciais, estaes de metr,
escritrios do Ministrio Pblico), assim como tambm foram feitas batidas
especiais nos feriados, com jovens que percorreram os principais centros
Soraya El Achkar
192
comerciais. Os questionrios foram publicados durante 15 dias em 3 jornais
de circulao nacional e tambm foram colocados nos centros de
armazenamento de caixas para envio de respostas.
As ligaes telefnicas funcionaram por duas vias diferentes. As que
entravam por um nmero gratuito (0-800-Refopol), onde as pessoas
podiam respondem a trs perguntas fechadas. As de sada, que foram
feitas pelo servio de telefonia a mais de 40 mil famlias venezuelanas de
diferentes estratos sociais com perguntas fechadas.
Foi criada uma grande base de dados para registrar os resultados
que foram lanados pela consulta difusa, na qual foram desenhadas mais
de 45 descries em uma escala de 6 valoraes diferentes e todas as
papeletas, as mensagens na Web e de telefone foram coletadas para poder
conhecer a opinio geral da populao sobre as questes consultadas.
Nos mecanismos difusos, a consulta lanou basicamente a) que a
polcia uma instituio corrupta, b) que necessrio desenhar
mecanismos expeditivos e eficientes para a sano das faltas cometidas
pelos funcionrios e c) que os cidados podemos cooperar com as
denncias das irregularidades para ajudar a resolver os problemas da Polcia.
A consulta concentrada:
Na consulta concentrada trabalhamos com trs mecanismos
diferentes: os fruns regionais, as oficinas setoriais e as mesas tcnicas.
O Frum Temtico Regional foi um espao de encontro para a
discusso e o debate entre instituies pblicas e privadas sobre os pontos
fortes e fracos do desempenho policial, em sentido amplo e com referncia
particular s diversas corporaes policiais da regio, com o objetivo de
identificar reas de interveno e propostas para a definio de um modelo
policial para o pas, diferenciando as caractersticas e as propriedades
gerais das particulares ou especficas em funo das condies regionais e
locais do servio policial. Todos os fruns realizados foram organizados
com as universidades do pas.
A oficina era um espao de reflexo em pequenos grupos que facilita
o debate a partir de experincias pessoais e de grupo a propsito da
funo policial, dos mecanismos de controle, das reas de necessria
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
193
interveno, do modelo mais desejvel para o pas e a regio em particular.
As oficinas foram convocadas pelas alianas que a Comisso conseguiu
estabelecer em todo o territrio nacional com governadores e
governadoras, prefeitos e prefeitas, diretores e funcionrios de
corporaes da polcia nacional, estadual e municipal, incluindo a Guarda
Nacional, acadmicos em geral e especialistas no campo, estudantes
universitrios, operadores penais (fiscais, juzes, defensores pblicos),
representantes da Defensoria Pblica, indgenas, estudantes,
transportadores, comunidades populares, camponeses, meninos, meninas
e adolescentes, trabalhadores sexuais e transexuais, transgressores
intervindos pelo sistema e transgressores sem nenhuma interveno do
sistema penal, empresrios e empresrias, sindicatos, familiares de vtimas
de abusos policiais, trabalhadores organizados e informais, pescadores,
mes de setores populares, jovens de setores populares e de classe mdia,
organizaes sociais e de direitos humanos, representantes das principais
igrejas.
A seleo dos grupos no foi arbitrria, respondia a alguns critrios
de justia: a) os grupos que se veriam diretamente afetados pela poltica a
ser desenhada, b) grupos das diferentes regies do pas, c) grupos que
respondiam aos mais diversos setores da vida nacional, d) os grupos
tradicionalmente vulnerados pela ao policial.
De todos os setores consultados, a Comisso Nacional ps nfase
especial naqueles setores que se veriam afetados mais diretamente pelo
desenho da poltica, como o caso dos funcionrios civis ou militares em
exerccio de funes policiais. Estvamos convencidos de que estes grupos
contribuiriam significativamente tanto no diagnstico dos principais e mais
graves problemas, quanto na construo das possveis frmulas que
servissem na correo das polticas institucionais.Ee assim foi. Os policiais
que participaram cooperaram abertamente na elaborao de um novo
modelo policial, colocando os elementos-chave no diagnstico e sugerindo
as recomendaes que serviram de base para o desenho do novo modelo
policial. Agora estamos seguros de que a implementao ser um processo
sem maiores resistncias, j que os policiais (aos quais lhes corresponde
principalmente a tarefa de implementar) foram partcipes da construo
do novo modelo.
As mesas tcnicas serviram para agrupar os atores chaves e alcanar
acordos mnimos em relao s mudanas normativas e polticas que supe
Soraya El Achkar
194
o novo marco constitucional e legal em referncia a 1) segurana pblica
e condies de trabalho (benefcios trabalhistas ou socioeconmicos) das/
dos funcionrias/os policiais; 2) um modelo desejvel de regime disciplinar
para as instituies policiais, e 3) melhor modelo democrtico de Polcia
de Investigao.
Para o registro de toda a informao da consulta concentrada, foram
feitos relatrios por cada oficina setorial e estes foram passados para uma
grande matriz de problemas e propostas com a sua respectiva
ponderao, segundo os nveis de recorrncia em cada tema levantado.
Assim podemos identificar os consensos e os ns problemticos em cada
eixo temtico. Eram os ns os que foram sendo discutidos no seio da
Comisso para elaborar frmulas constitucionais e ticas de resoluo.
Na consulta concentrada os temas relevantes foram: o uso
desproporcional da fora, os mltiplos mecanismos de corrupo e de
impunidade dentro das corporaes policiais, a interferncia poltica na
organizao policial, a disperso e improvisao da formao policial, a
instabilidade de trabalho dos funcionrios, a ineficincia da gesto das
diferentes corporaes de segurana, a ausncia de mecanismos de
participao comunitria no controle da administrao e gesto policial, a
ateno imprpria para as vtimas, as condies de trabalho injustas.
Oficinas com especialistas
No marco desta consulta, foram organizados dois eventos que
conseguiram convocar mais de 25 especialistas - dentro e fora do pas
dedicados aos estudos sobre a polcia e sobre os processos de reforma,
com a finalidade especfica de analisar, por um lado, as experincias que
tivessem expandido a eficincia, o profissionalismo, a prestao de contas
e a avaliao de gesto da polcia e, por outro lado, aspectos crticos da
funo policial, incluindo o uso da fora e os mecanismos de
acompanhamento e controle.
A Comisso Nacional para a Reforma Policial organizou a consulta
nacional com o propsito de coletar informao detalhada sobre as prticas
policiais concretas porque o fato de saber tanto e com tanto detalhe
uma contribuio para a melhoria do estado atual das coisas, pois s uma
ampla e detalhada base de informao pode favorecer o desenho de
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
195
polticas pblicas pertinentes, acertadas e com capacidade de corrigir os
projetos institucionais.
a informao que proporciona os elementos necessrios para
que o desenho das polticas pblicas seja feito de forma racional, coerente,
ajustada realidade e com critrio de correo. A Comisso Nacional
manteve uma reunio com todos os diretores dos meios de comunicao
para apresentar o plano de trabalho e solicitar-lhes que promovessem
investigaes jornalsticas sobre os 8 eixos temticos da reforma policial,
artigos de opinio e colunas permanentes sobre a situao atual da polcia
e as expectativas que sobre ela se tem. Esta solicitao foi feita sob a
considerao que o escrutnio pblico comunitrio fundamental em um
sistema democrtico, onde as polticas pblicas devem responder s
necessidades deliberadas publicamente e so produto de um acordo
nacional.
2
A idia de consultar tem seu apoio nos princpios da democracia
que, mesmo entendendo, no so um remdio que sane os males de forma
automtica. Constitui uma oportunidade que deve ser aproveitada para
acordar desenhos institucionais que respondam s demandas mais sentidas
pelas pessoas. Assim, a consulta nacional sobre a polcia acrescentou um
valor instrumental democracia porque permitiu aos cidados e cidads
a) ter um canal de expresso que lhes permitisse conseguir a ateno
requerida s suas demandas; b) a oportunidade de aprender uns com os
outros; c) delinear os seus valores e prioridades como sociedade e d)
desenhar as instituies pblicas que estaro a servio de todos.
Definitivamente, a Consulta foi um exerccio de reflexo ideo-poltico
que permitiu que todos os setores expressassem publicamente o que
desejam e valorizam; expusessem os seus argumentos e juzos sobre os
problemas que mais lhes angustiam como comunidade; mostrassem os
seus esquemas axiolgicos e exigissem ateno a suas demandas.
As reformas policiais devem ser entendidas como um processo
no s de reformas institucionais internas das polcias, mas sim como um
processo que promova o ofcio da cidadania, entendendo que este ofcio
no mais que um conhecimento prtico vinculado s prticas discursivas
que se constroem essencialmente a partir dos desenhos institucionais
estabelecidos. O ofcio da cidadania se aprende, como se aprende o
Soraya El Achkar
196
exerccio da democracia, e para isso necessrio criar as oportunidades
e os mecanismos de dilogo e deliberao onde podem ser desenvolvidos
os juzos morais iniludveis na construo da comunidade poltica (El Achkar
e Riveros 2007).
O ofcio da cidadania uma prtica eticamente boa em si mesma
porque sempre a definio de um exerccio moral e a execuo de uma
prtica de compromisso. No um mero status legal, a cidadania se traduz
em prticas polticas que supe mcerto saber prtico-normativo, onde
se manifesta a capacidade de interpretao e deliberao a respeito do
bem comum (entendido este no como a soma dos bens privados, mas
sim como o que beneficia o conjunto da sociedade), assim como a
capacidade para julgar e atuar correspondentes s realidades do pblico e
do poltico e, portanto, o ofcio da cidadania constitui uma qualidade moral.
Sob esta premissa, a Comisso Nacional para a Reforma Policial assumiu
que a consulta nacional podia ser tambm um espao para educar na virtude
cvica que implica essa vontade orientada para administrar o bem de todos,
nas questes pblicas (El Achkar e Riversos 2007).
ESTUDOS DIAGNSTICOS
Alm da consulta, a Comisso Nacional para a Reforma Policial na
Venezuela realizou vrios estudos diagnsticos que permitiram caracterizar
a polcia venezuelana e desenhar a primeira base de dados sobre as 126
polcias no pas.
Os estudos foram os seguintes:
1. um Relatrio de Autopercepo Policial, realizado sobre a base
de 2.217 pesquisas e 8 entrevistas em profundidade realizadas com
funcionrios policiais e da Guarda Nacional.
2. um Relatrio de Anlise Organizacional dos corpos de segurana
do Estado, sobre a base de informao obtida em 11 corporaes policiais
estatais e 29 municipais.
3. uma pesquisa Nacional de Vitimizao e Percepo Policial,
aplicada em nvel nacional atravs de um processo de seleo aleatrio de
moradias emuma amostra de 6.945 moradias.
4. um Relatrio da Formao Policial na Venezuela, com base em
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
197
30 institutos de formao.
5. um Relatrio de Anlise do Oramento das Corporaes Policiais
Estatais e Municipais da Venezuela, realizado com base em uma amostra
de 18 corporaes estaduais e 48 municipais.
6. um inventrio de normas jurdicas reguladoras das corporaes
policiais da Venezuela.
7. um relatrio de Compromissos Internacionais do Estado com
organismos de direitos humanos
8. um relatrio de caracterizao do Corpo Tcnico da Polcia Judicial
(CICPC)
9. uma pesquisa feita com cada uma das 126 polcias do pas com
mais de 80 perguntas diferentes.
Toda a informao, tanto da consulta nacional quanto do diagnstico
institucional deve receber o tratamento necessrio para a construo de
argumentos que no so mais que cpsulas de informao que restringem
as decises discricionrias, arbitrrias ou caprichosas por parte do tomador
de decises pblico e sobre as quais todo o desenho institucional deve se
apoiar. Em nosso caso, a Comisso criou os mecanismos de participao e
os dispositivos para processar toda a consulta nacional e cruzar variveis
qualitativas e quantitativas que permitissem desenhar uma poltica pblica
ajustada ao diagnstico participativo, s expectativas de todos os setores,
aos acordos e dissensos, s estruturas mais desejveis e s demandas exigidas.
Caracterizao da polcia venezuelana
Os dados que na continuao so especificados esto amplamente
indicados no relatrio de caracterizao realizado pelo comissionado
professor Andrs Antillano e publicados em A polcia venezuelana.
Desenvolvimento institucional e perspectivas de reforma no incio do
terceiro milnio (2007)
O estudo realizado pela Comisso Nacional para a Reforma Policial
indica que, em termos gerais, a polcia venezuelana uma instituio
ineficiente, que realiza um uso inadequado da fora, sem critrios de
funcionamento unificados, sem mecanismos de controle internos e externos
Soraya El Achkar
198
eficientes, que afeta negativamente os setores populares, que carece dos
recursos adequados para melhorar o seu desempenho e garantir aos
funcionrios a plenitude de seus direitos sociais e que percebida pela
populao com desconfiana.
Os dados mostram que na Venezuela existem 126 corporaes
policiais: 24 estatais e 99 municipais. Adicionalmente cumprem funes
de polcia preventiva ou ostensiva: a Guarda Nacional, o Corpo de
Investigaes Cientficas Penais e Criminolgicas e o Corpo de Guardas
de Trnsito Terrestre.
Entre 1990 e 2006, foram criadas 105 novas polcias, o que supe
um aumento de 363,64%. Contamos no pas com uma taxa de 457,18
funcionrios por cem mil habitantes cumprindo funes de polcia
ostensiva e, no entanto, no resolvemos os problemas de segurana
pblica e a distribuio dos funcionrios no a mais adequada. 17 dos
24 estados tm uma taxa menor que o padro de 350,19 por cada
100.000 habitantes.
Os problemas mais importantes:
Pluralidade de normativas que regulam a atividade policial (21 leis
estaduais e 77 decretos e disposies municipais), a doutrina, os manuais
de procedimentos, os critrios e mecanismos de seleo e entrada.
Uso ineficiente dos recursos policiais disponveis: do nmero total
de agentes policiais, aproximadamente 11% esto inativos, 10% se
encontram em comisso de servio ou de frias no momento de coleta
da informao, outros 10% esto destacados em funes administrativas.
Do total de agentes operativos, s 52% realizam atividades
relacionadas segurana pblica (patrulhamento e investigao), enquanto
o resto tem como funes designadas a custdia de edifcios, a proteo
a personalidades, o trabalho de transporte e logstica, entre outras.
Exi stnci a de mui tas pol ci as dos n vei s organi zaci onai s
claramente diferenciados e separados (agentes e oficiais) e um dficit
freqente de gerentes mdios e supervisores, alm de uma cultura
fortemente militarizada que impediu o trnsito para uma polcia
eminentemente civil.
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
199
A subordinao e dependncia das polcias aos comandos polticos
um problema relevante.
O funcionamento da maior parte das polcias depende da designao
oramentria que realizam os governos e as prefeituras segundo as suas
prioridades (98% de seus recursos provm das contribuies destes
entes), o que faz que as suas atividades e o desenvolvimento estejam
sujeitos agenda conjuntural do executivo).
70,33% das polcias no contam com manuais de procedimentos e
76% no contam com manuais de organizao, portanto os procedimentos
para a seleo, a entrada, as ascenses e a designao de tarefas e funes,
assim como as sanes disciplinares e a aposentadoria so discricionrias
e arbitrrias, de acordo com a vontade dos polticos da vez.
O mesmo acontece com o regime disciplinar que se caracteriza
por ser: heterogneo, discricionrio, arbitrrio, contraditrio com os
princpios legais, como o devido processo e a proporcionalidade. No
costuma haver procedimentos claros para sancionar os policiais e quando
isso feito, muitas vezes, inconstitucional.
Nmeros e mdias de policiais demitidos de corpos de segurana
que se encontram trabalhando em alguma outra corporao de segurana:
754. Funcionrios ativos com antecedentes penais: 1.316 (1,7%).
Funcionrios ativos tm antecedentes penais por diversos delitos, apesar
de a maioria dos organismos considerar a inexistncia de antecedentes
como condio para a entrada no organismo.
Os policiais menos formados so aqueles que tm menor patente e
fazem o trabalho de superviso ou de contato com as pessoas. Uma
porcentagem alta tem problemas para redigir relatrios e os
procedimentos so declarados nulos, o que aumenta a impunidade. Na
formao, a disperso expressa na ausncia de unidade de critrios de
formao e de certificao das instituies. Existem tantos documentos
curriculares como modelos de formao policial existentes no pas. Os
propsitos da formao variam de um desenho para outro; assim como
variam os planos de estudo, o perfil de formatura, os lapsos, a densidade
curricular, o ttulo que outorgado, o enfoque pedaggico, a relao teoria-
prtica, o vnculo com a comunidade. Com as guardadas excees, os
Soraya El Achkar
200
enfoques de formao so fortemente militarizados.
Muitas polcias no contam com infra-estrutura adequada, carecem
de instalaes de servios bsicos ou de espaos necessrios para a
atividade policial, como as reas de deteno preventiva. Em outros casos,
nem ao menos se conta com sede prpria. Recursos de maior nvel
tecnolgico (telefones e faxes, acesso Internet, computadores, software)
so relativamente estranhos ou, quando existem, concentram-se nas sedes
principais.
Do mesmo modo, do conjunto de armas informadas (mais de
100.000), aproximadamente 20% so declaradas como inoperantes. Em
relao aos veculos, considera-se que esto em condies de operatividade
64,95% para as polcias estaduais e 70,17% para as municipais.
Os baixos salrios e as desigualdades nas receitas tornam a carreira
policial pouco atraente. A mdia nacional de salrio das patentes mais
baixas de Bs. 476.444 mensais (200$USA). O salrio mdio dos oficiais
de patente mais alta de Bs. 1.616.289 (753$USA), o que representa
3,38 vezes mais que o salrio mdio dos agentes de base. O regime de
segurana social disperso e heterogneo. Existem polcias com regimes
prprios, sendo gerada uma situao de discriminao entre os
funcionrios.
MEDIDAS IMEDIATAS
Considerando que nenhuma reforma muda o estado da arte de forma
imediata, foi decidido recomendar ao governo nacional algumas medidas de
carter imediatas, mas que fossem transitrias com relao ao novo modelo
policial. Assim, essas medidas so um conjunto de recomendaes aos
poderes nacionais, com o objetivo de resolver problemas imediatos
relacionados com a efetividade no servio policial, o controle de gesto
policial, as violaes aos direitos humanos e a formao policial.
Primeira Resoluo (aprovada)
Que necessrio um instrumento legal que previna e controle os
operativos de segurana pblica, como postos e pontos policiais de
controle mvel em reas urbanas, no previstos no decreto com fora de
lei de coordenao de segurana cidad. O Ministrio do Interior e de
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
201
Justia resolveu estabelecer medidas de regulao, controle e superviso
dos postos e pontos de controle policial a fim de garantir que as aes
cometidas sejam punveis nos mencionados postos.
Esta Resoluo foi adotada mediante resoluo ministerial 189, em
Dirio Oficial N 38.441 do dia 22 de maio de 2006. No obstante, no
uma publicao oficial que foi suficientemente difundida entre as
corporaes policiais, tampouco foram implementados os mecanismos
para a superviso dos postos mveis.
Segunda Resoluo (aprovada):
Considerando que se requer um instrumento eficaz em matria
policial, de carter tico e moral que honre a funo policial e contribua
para o melhor cumprimento de suas funes, ajustado aos princpios
constitucionais em matria de direitos humanos e aos avanos do
ordenamento jurdico geral, o Ministrio do Interior e Justia decidiu ditar
um cdigo de conduta para os funcionrios civis ou militares que cumpram
funes policiais no mbito nacional, estadual e municipal.
Esta Resoluo foi adotada mediante resoluo ministerial 364, em
Dirio Oficial N 38.527 do dia 21 de setembro de 2006. Este Cdigo
foi desenhado em verso de bolso e foram editados 200 mil exemplares
com o propsito de serem distribudos a todos os funcionrios civis ou
militares que cumpram funes policiais.
Terceira Resoluo (no aprovada)
Considerando que o Executivo Nacional, para o cumprimento das
exigncias contempladas na Constituio da Repblica Bolivariana e nas
Leis, deve proceder a elaborao de um registro integral de controle
das armas que se encontram em poder das diferentes Corporaes de
Polcia do pas em nvel nacional. Neste sentido, deveria resolver que os
Ministrios do Interior e de Justia e da Defesa procedam realizar um
inventrio digitalizado de todas as armas corporativas, particulares e
apreendidas, em poder das polcias nacionais, estatais e municipais e
daquelas que estiverem em poder dos funcionrios que prestam servio
nos estabelecimentos penitencirios e nas empresas dos servios de
segurana privada.
Soraya El Achkar
202
Esta Resoluo tambm deveria contemplar a formao no
espectro contnuo do uso de fora, especialmente no uso das armas de
fogo, a partir de um enfoque de direitos humanos.
Quarta Resoluo (no aprovada)
Considerando que necessrio sistematizar as Boas Prticas
Policiais atravs de um programa permanente e integral, que permita ao
Estado venezuelano o fortalecimento da qualidade do servio policial
nos mbitos nacional, estadual e municipal, gerando um processo
pedaggico, de indagao auto-reflexiva e valorao sobre o acervo de
conhecimentos e experincias vividas nas instituies policiais, o
Ministrio do Interior e da Justia deveria resolver: a criao do programa
permanente de certificao das boas prticas policiais.
Esta Resoluo teria como objeto a criao do Programa de
Certificao das Boas Prticas Policiais; cuja finalidade incentivar,
reconhecer, promover, fortalecer e difundir os programas, projetos e
estratgias policiais nas reas de recursos humanos, investigao,
tecnologia, destrezas, capacitao e interao social que tenham
permitido melhorar os indicadores de atuao policial atravs de um
processo de avaliao e certificao das boas prticas policiais.
Quinta Resoluo (no aprovada)
Considerando que a ocorrncia de mortes e outras violaes aos
direitos humanos, nos quais participaram funcionrios policiais so
inaceitveis tica e juridicamente e que isso desonra a funo policial
como servio humanitrio. Considerando que a disperso e incoerncia
da normativa que consta contra a legalidade e a segurana jurdica
coadjuvam para a falta de uniformidade e para a carncia de respostas
adequadas e oportunas para as vtimas de violaes aos direitos humanos,
o Executivo Nacional deveria resolver ditar uma instruo de superviso
dos rgos policiais.
A Resoluo tem como objetivo acentuar a superviso dos rgos
policiais mediante instrues que conduzam a que cada um deles leve
adiante os procedimentos de lei correspondentes
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
203
O MODELO DE POLCIA
Com toda a informao recolhida na consulta nacional e com os
estudos diagnsticos, foi desenhado um novo modelo policial para a
Venezuela sob as seguintes consideraes:
O Modelo policial constitui um conjunto de supostos e princpios
sobre a organizao desejvel da polcia como agncia de segurana pblica.
Os princpios do modelo so as coordenadas institucionais atravs das
quais se articula todo o exerccio e funcionamento da organizao.
Abarca supostos e princpios intra-institucionais, que tm a ver com
a organizao, gesto, desempenho e avaliao comuns para os corpos
de polcia, e que devem ser aplicados dentro de cada um deles. Supostos
e princpios inter-institucionais, que tm a ver com a coordenao,
cooperao, sinergia e acoplamento dos diversos corpos policiais dentro
do marco de uma ao convergente para a realizao das polticas pblicas
de segurana cidad que correspondem polcia.
Entende-se por polcia uma instituio pblica, dotada de poder
coercitivo imediato, cuja funo individualizar, detectar, restringir e/ou
suprimir condutas previstas como lesivas de interesses juridicamente
protegidos e, portanto, submetidas a sano pblica.
O modelo definido conta com 8 itens:
Um primeiro item sobre os Princpios Gerais da polcia venezuelana,
onde define a Polcia como uma instituio pblica, de funo indelegvel,
civil, que opera dentro do marco da Constituio da Repblica Bolivariana
da Venezuela e dos tratados e princpios internacionais sobre proteo
dos direitos humanos, orientada pelos princpios de permanncia, eficcia,
eficincia, universalidade, democracia e participao, controle de
desempenho e avaliao de acordo com processos e padres definidos,
e submetida a um processo de planejamento e desenvolvimento de acordo
com as necessidades dentro dos mbitos poltico-territoriais nos mbitos
nacional, estadual e municipal.
Um segundo item, que especifica as funes da polcia, onde se
indica que a funo principal das polcias expressa nas seguintes aes:
Soraya El Achkar
204
a) garantir o livre exerccio dos direitos humanos e as
liberdades pblicas;
b) prevenir a prtica de delitos;
c) apoiar o cumprimento das decises da autoridade
competente;
d) garantir o controle e a vigilncia da circulao e o
trnsito terrestre;
e) facilitar a resoluo de conflitos mediante o dilogo,
a mediao e a conciliao.
Aes que, por mandato constitucional, so coincidentes entre os
trs mbitos poltico-territoriaais do poder pblico nacional, estadual e
municipal. Portanto so competentes para exerc-las tanto a polcia nacional
como as polcias estaduais e municipais.
Um terceiro item sobre a estrutura onde se define quem realiza a
funo policial e as atribuies que correspondem ao Ministro do Interior
e de Justia, aos governadores de Estado e aos prefeitos a respeito das
corporaes nacionais, estaduais e municipais, respectivamente. Assim
como as atribuies que so prprias dos diretores das diversas
corporaes policiais e dos funcionrios com responsabilidades de
comando na relao hierrquica com seus subordinados.
Um quarto item que define os princpios de designao de
competncias da polcia nos mbitos poltico-territoriais nacional, estadual
e municipal, os quais so enunciados como concorrncia, coordenao,
cooperao e ateno antecipada. Alm de explicar quatro critrios de
distribuio de competncias, a saber: 1) critrio de territorialidade, 2)
critrio de complexidade, 3) critrio da intensidade da interveno e 4)
critrio da especificidade da interveno.
Um quinto item sobre a Carreira policial, que compreende tudo o
que seja relativo s categorias na hierarquia policial, sistema de formao,
requisitos para a ascenso, permanncia e aposentadoria, incluindo regime
de segurana social.
Um sexto item sobre o desempenho policial que compreende tudo
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
205
o que seja relativo a pautas de comportamento e indicadores de
rendimento, eficincia, eficcia, uso da fora, respeito aos direitos humanos,
meios e recursos disponveis e, em geral, critrios para o desenvolvimento
do trabalho policial dentro de limites socialmente aceitveis.
Um stimo item, que compreende tudo que seja relativo a
mecanismos de controle interno e externo da polcia, regime disciplinar,
assuntos internos, procedimentos de deteco e correo de m prtica,
instncias externas de superviso e auditoria, coordenao governamental
e corregedoria social.
Um oitavo item onde se define o sistema integrado de polcia que
supe o cumprimento da funo policial coincidente, atravs do
desenvolvimento de uma estrutura que assegure a gesto e a eficincia
dos corpos policiais mediante o cumprimento de princpios e regras
comuns sobre a carreira, o desempenho, os nveis de interveno, as
atribuies e os mecanismos de superviso e controle.
Recomendaes Finais da Comisso Nacional para a Reforma
Policial:
Deste conjunto de propostas que definem as tarefas centrais para a
construo de um modelo democrtico de polcia derivam as seguintes
recomendaes imediatas:
1. Elaborar a lei de bases e demais normativas que regulam o sistema
integrado de polcia e demais leis vinculadas aos corpos policiais, segundo
o previsto no Modelo proposto. O Executivo Nacional elaborar as linhas
para o desenho das polticas de segurana pblica e os programas gerais
para o controle do delito.
Aspectos destacveis a incluir na lei:
a) os princpios organizativos, a gesto e as pautas de
atuao e avaliao da polcia devem responder a
critrios estritamente civis;
b) incorporar o controle, ordenao da circulao e o
trnsito de veculos, assim como a segurana viria para
as funes da polcia nacional, estadual e municipal;
Soraya El Achkar
206
c) adotar uma carreira nica e uma escala hierrquica
de 9 posies que compreenda: a) alta gerncia,
planejamento e avaliao; b) gerncia mdia, desenho
de operaes, superviso e avaliao e c) nvel
operacional;
d) desenhar um sistema uniforme de condies de
trabalho e previdncia social, de acordo com as
particularidades da polcia, a intangibilidade e
progressividade dos direitos trabalhistas;
e) adotar um regime disciplinar unificado com relao
a faltas, procedimentos para determinar a
responsabilidade e instncias encarregadas de aplicar
as sanes;
f) a Polcia deve estar submetida a mecanismos de
prestao de contas por parte da cidadania;
g) regulamentar as competncias da direo de assuntos
internos do Comit Cidados de Superviso Policial e
do Auditor Policial, a fim de alcanar um sistema
coerente, funcional e racional para o controle da
atividade policial mediante a participao cidad;
h) estabelecer um mecanismo de carter nacional e
independente das polcias que permita processar,
investigar e levar a juzo as violaes aos direitos
humanos.
2. Difundir, exigir e supervisionar o cumprimento do cdigo de
conduta policial.
3. A Polcia deve ser treinada na proteo dos direitos humanos,
conforme a constituio e o sistema internacional de proteo; bem como
no uso da fora. A segurana privada subsidiria da polcia e regem para
ela os princpios sobre proteo aos direitos humanos e o uso da fora.
4. Implementar medidas para evitar que a Polcia suspenda a
prestao do servio por nenhum motivo.
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
207
5. Adotar critrios de avaliao de desempenho policial que levem
em considerao a relao entre recursos disponveis e obteno de
resultados.
6. As diferentes corporaes de polcia devem preparar um plano
anual de gesto.
7. Elaborar os protocolos de interveno policial segundo os
critrios de territorialidade, complexidade, intensidade e especificidade
da interveno aplicveis a todas as polcias.
8. Desenhar uma poltica sobre o uso de fora fsica que inclua a
aquisio, registro, controle e utilizao de armamentos e equipamentos
autorizados e homologados. Esta poltica deve se restringir segundo os
seguintes princpios a: afirmao da vida como um valor supremo
constitucional, o desestmulo ao uso da fora como castigo, as escalas
progressivas para o uso da fora em funo do nvel de resistncia do
cidado, procedimentos de acompanhamento e superviso de seu uso,
treinamento permanente policial e a difuso de instrues entre a
comunidade.
9. Desenvolver manuais e protocolos para a aplicao de escalas
progressivas no uso da fora fsica em funo da resistncia do cidado.
10. Adotar um plano para a polcia de dotao e manuteno da
capacidade operativa que inclua ambientes fsicos, unidades mveis,
uniformes e insgnias e tecnologia de informao e de comunicao.
11. Consolidar a base de dados nacional sobre a polcia venezuelana
no mbito nacional, regional e municipal e acordar critrios de unificao
sobre os registros de criminalidade e ndices de letalidade policial.
12. Executar, com a mxima brevidade que seja possvel, um
inventrio digitalizado de todas as armas corporativas, particulares e
apreendidas, bem como um registro balstico.
13. Implementar um programa de certificao de boas prticas
policiais que premie os policiais ou as instituies que adiantem programas
que garantam segurana cidad e respeitem os direitos humanos.
Soraya El Achkar
208
14. Regular a re-designao em uma atividade compatvel com a
sua formao e as necessidades do servio daqueles funcionrios
supostamente includos em delitos e em faltas graves enquanto se resolve
definitivamente a sua situao.
CONSIDERAES FINAIS
O objetivo geral da Comisso para a Reforma Policial em uma fase
II era implantar o novo modelo policial, mediante um marco jurdico
institucional e de gesto que permita conceber a polcia como uma
instituio pblica, de funo indelegvel, civil, que opera dentro do marco
da Constituio da Repblica Bolivariana da Venezuela e dos tratados e
princpios internacionais sobre proteo dos direitos humanos, orientada
pelos princpios de permanncia, eficcia, eficincia, universalidade,
democracia e participao, controle de desempenho e avaliao, de acordo
com os processos e os padres definidos e submetida a um processo de
planejamento e desenvolvimento de acordo com as necessidades dentro
dos mbitos poltico-territoriais nacional, estadual e municipal.
A estratgia central compreendia o acompanhamento ao Ministro
do Interior e da Justia mediante o desenho de mecanismos para a
implementao do conjunto de recomendaes sugeridas pela Comisso,
com o objetivo de resolver problemas imediatos relacionados com a
efetividade no servio policial, o controle de gesto policial, as violaes
aos direitos humanos e a formao policial.
Foi proposto um plano de desenvolvimento do modelo articulado
atravs de 5 reas temticas fundamentais com o objetivo de desenvolver
padres aplicveis a todas as corporaes de polcia que proceda mediante
a aplicao e avaliao em princpio, de mnimas medidas imediatas que
culmine em um sistema de certificao policial, acompanhado de um
Programa de Assistncia Tcnica para aquelas polcias que no alcancem
os padres adequados, com o objetivo de atingir a sua melhora e, em
caso de falha, o seu eventual descredenciamento e/ou reorganizao ou
eliminao.
a) funes e competncias: princpios para a
distribuio de competncias segundo a territorialidade,
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
209
complexidade, intensidade e especificidade da
interveno.
b) carreira policial: Categorias na hierarquia policial,
um sistema de formao, requisitos para a ascenso,
permanncia e aposentadoria, incluindo um regime de
previdncia social e de direitos trabalhistas.
c) prestao de contas: Mecanismos de controle
interno e externo da polcia, regime disciplinar, assuntos
internos, procedimentos de deteco e correo de
m prtica, instncias externas de superviso e
auditoria, coordenao governamental e corregedoria
social.
d) desempenho policial: Pautas de comportamento
e indicadores de rendimento, eficincia, eficcia, uso
da fora, respeito aos direitos humanos, meios e
recursos disponveis e, em geral, critrios para o
desenvolvimento do trabalho policial dentro de limites
socialmente aceitveis.
e) uso da fora fsica: Mecanismos para o treinamento,
uso, acompanhamento e superviso da aplicao da
coero fsica por parte da polcia, levando em
considerao escalas progressivas para o uso da fora
em funo do nvel de resistncia e oposio do
cidado, promovendo a difuso de instrues entre a
comunidade, com o objetivo de facilitar a inspeo
social nesta matria.
Na Venezuela se do todas as condies para levar adiante uma
reforma policial.
1. Alcanamos um acordo nacional a respeito dos temas da reforma
policial, mediante uma ampla consulta nacional a todos os setores do pas.
Todos coincidem em indicar a necessidade de adiantar uma reforma nas
reas temticas levantadas.
2. Os funcionrios e funcionrias de polcia mostraram (de um modo
Soraya El Achkar
210
geral) vontade poltica para se submeter a um processo de reforma policial
e participar ativamente no mencionado processo.
3. O diagnstico institucional conseguiu esboar uma caracterizao
detalhada da polcia venezuelana.
4. Um plano de ao a curto, mdio e longo prazo para implementar
a reforma policial e algumas medidas imediatas para resolver os problemas
mais graves dentro das instituies policiais.
5. No pas existe um grupo de especialistas dentro e fora da
academia que esto dispostos a acompanhar o processo de reforma, e
muitos dos especialistas internacionais se mostraram solidrios e
anunciaram a sua disposio em colaborar.
6. Nestes tempos de bonana, o pas tem suficiente recurso
tecnolgico e financeiro para organizar o processo de reforma no mbito
nacional, estadual e municipal.
7. A populao est disposta a exercer o direito que lhe d a
Constituio para desenhar as polticas pblicas em matria de segurana
e para controlar as instituies pblicas como a polcia.
8. Temos uma opinio pblica a favor da reforma que estaria disposta
a promov-la e a criar uma matriz de opinio que animasse positivamente
o processo.
No obstante, existem situaes complexas que foram ou so
potencialmente elementos que impedem a Reforma Policial:
1. A reforma policial nunca foi assumida nem pelo Conselho de
Ministrio nem pelo Presidente da Repblica. Foi uma iniciativa do Ministro
do Interior e de Justia, que no a promoveu no gabinete com a fora que
correspondia.
2. Os nveis de rotao de funcionrios nos cargos ministeriais so
muito altos e cada rotao implica comear de novo, desconhecendo o
trabalho de seu antecessor. Cabe indicar que em 8 anos de governo com
o presidente Hugo Chvez Fras houve 9 Ministros do Interior e de Justia,
e nenhum deles deu prioridade reforma policial, com exceo do Ministro
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
211
Jesse Chacn, que nomeara a Comisso Nacional para a Reforma policial.
3. Neste momento (2007), estamos em um processo de reforma
constitucional (iniciativa presidencial), assunto que poderia afetar
radicalmente o modelo policial proposto pela Comisso porque se planejou
revisar a estrutura do territrio e demais espaos geogrficos, assim como
a diviso poltica (nova geometria do poder); as competncias do poder
pblico nacional, regional e municipal (novo poder comunal); a estruturao
e funes da Fora Armada Nacional. Por isso dizemos que uma
experincia em curso.
4. Algumas das recomendaes topam com interesses institucionais
que poderiam desviar a reforma policial para no ceder cotas de poder
que foram conquistadas na estrutura do Estado: 1) A criao da Polcia
Nacional, como corpo uniforme de Polcia Geral, dependente do Executivo
Nacional, 2) A definio, instalao do sistema integrado de polcia e a
criao e ativao do Conselho Geral de Polcia como mxima instncia
de definio, planejamento e coordenao das polticas pblicas de
segurana cidad; 3) A eliminao da Polcia Metropolitana e do Corpo de
Vigilncia e Trnsito Terrestre em um processo de transio que implique
respeito aos direitos humanos trabalhistas. 4) A retirada da Guarda
Nacional das funes de segurana cidad, da formao policial e de outros
mbitos de exerccio policial; 5) A eliminao dos grupos especiais do
Corpo de Investigaes Cientficas, Penais e de Criminalstica, e a retirada
desta polcia das tarefas de patrulhamento; 6) A restrio s atribuies
dos prefeitos e governadores na vida institucional das polcias (a no
ingerncia poltica).
5. A ausncia de polticas pblicas no mbito nacional, estadual e
municipal com relao aos temas da segurana pblica afetam diretamente
qualquer reforma policial, porque a polcia no mais que um meio para
alcanar propsitos de Estado e de governabilidade que, neste caso, no
esto claramente definidos.
No quero terminar sem me referir necessidade de pensar de
forma complexa na reforma policial porque esta apenas a ponta de uma
reforma muito mais ampla: a reforma do setor segurana; entendendo
que a segurana uma responsabilidade pblica essencial e necessria
para alcanar nveis aceitveis de vida boa e de justa governabilidade. Na
Soraya El Achkar
212
Venezuela, a Constituio da Repblica define a segurana como um direito
humano, uma garantia constitucional onde o Estado se responsabiliza pela
proteo das pessoas e comunidades frente a ameaas, vulnerabilidades,
riscos e agresses a vida, integridade, liberdade, desfrute de seus direitos
e cumprimento de seus deveres. Neste sentido, no competncia
exclusiva da Polcia.
Pensar na reforma policial implica, ento, empreender um caminho
de 1) mltiplas reformas para mudar o desenho institucional do complexo
sistema de administrao de justia; 2) Integrar no planejamento pblico
os assuntos vinculados com a segurana. Ou seja, desenhar polticas inter-
setoriais para assumir um enfoque de ao pblica integral em matria de
segurana cidad; 3) promover mecanismos de difuso sobre a gesto de
todas as reformas para que toda a sociedade civil possa estar informada e
participe ativamente na correo de todos os desenhos institucionais.
Notas
1
O Relatrio anual de PROVEA traz um registro estatstico das pessoas vulneradas em seu
direito vida (entre outros) que nos permitiu estabelecer a mdia em um perodo de 16 anos
(1988-2006).
2
Cabe indicar que, apesar da campanha para a eleio presidencial (dezembro 2006), os donos
dos meios de informao e os candidatos (em geral) respeitaram o acordo de evitar que a
Comisso, como uma instncia ministerial fosse desprestigiada em uma sorte de estratgia do
debate eleitoral.
Referncias bibliogrficas:
EL ACHKAR Soraya, Gabaldn Luis Gerardo. Comisso Nacional para a Reforma Policial
(2006) Reforma policial. Um olhar de fora e de dentro. Ministrio do Interior e da Justia na
Venezuela.
EL ACHKAR Soraya, Riveros Amaylin. Comisso Nacional para a Reforma Policial (2007). A
consulta Nacional sobre reforma policial na Venezuela. Uma proposta para o dilogo e o consenso.
Ministrio do Interior e da Justia da Venezuela.
EL ACHKAR, Soraya (2000) Educao em direitos humanos na Venezuela (1983-1999)
Em: Experincias de Educao em direitos humanos na Amrica Latina. Edita o Instituto
Interamericano de direitos Humanos. San Jos de Costa Rica.
GABADN Luis Gerardo e Antillano Andrs. Comisso Nacional para a Reforma Policial
(2007) A polcia venezuelana. Desenvolvimento institucional e perspectivas de reforma no incio
do terceiro milnio. Ministrio do Interior e da Justia da Venezuela.
PROVEA (1990-1991) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas,
PROVEA (1991-1992) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (1992-1993) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
213
Caracas.
PROVEA (1993-1994) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (1994-1995) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (1995-1996) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (1996-1997) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (1997-1998) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (1998-1999) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (1999-2000) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (2000-2001) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (2001-2002) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (2002-2003) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
PROVEA (2003-2004) Situao dos Direitos Humanos na Venezuela. Relatrio anual.
Caracas.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (1985-1993) Venezuela: Horror e impunidade.
Inventrio 1. Caracas.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (1993-1994) Venezuela: Horror e impunidade.
Inventrio 1. Caracas.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (1994-1995) Venezuela: Horror e impunidade.
Inventrio 1. Caracas.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (1995-1996) Venezuela: Horror e impunidade.
Inventrio 1. Caracas.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (2000) Relatrio de atividades Janeiro
Dezembro 2000 Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (2001) Relatrio de atividades Janeiro
Dezembro 2001 Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (2002) Relatrio de atividades Janeiro
Dezembro 2002 Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA LA PAZ (2002) Relatrio sobre a situao dos
direitos civis durante a presidncia de Hugo Chvez Fras no perodo 1999-2002. Srie de
Relatrios N4. Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (2003) Relatrio de atividades Janeiro
Dezembro 2003 Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA LA PAZ (2003) Relatrio sobre a situao de
direitos civis durante a presidncia de Hugo Chvez Fras no perodo 1999-2003. Srie de
Relatrios N5. Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (2004) 1985-1999 Quinze Anos De
Impunidade Na Venezuela. Pesquisa documental. Padres das violaes aos direitos humanos
Soraya El Achkar
214
e os mecanismos de impunidade. Srie de cadernos Pensar direitos humanos. N 7. Caracas,
Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (2004) Ativistas de direitos Humanos e
Polcias em dilogo. Crnica do encontro para um mtuo aprendizado. Contam Ileana Ruiz
e Soraya El Achkar. Srie de cadernos Pensar direitos humanos. N8. Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (2004) Relatrio de atividades Janeiro
Dezembro 2004 Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (2005) Relatrio de atividades Janeiro
Dezembro 2005 Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E PELA PAZ (2005) Trs histrias e um caminho
reparador. Relatos soltos de trs mulheres que reconstruiram noes, experincias e emoes a
partir da dor pela morte injusta de seus filhos, Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E A PAZ (1996) A histria de Juan. Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E A PAZ (1997) Histria de Lourdes Campos de Hurtado.
Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E A PAZ (1999) Pela vida e diante da vida. Histria de
vida de Ramn Parra.
REDE DE APOIO PELA JUSTIA E A PAZ (1999) Reconstruindo as minhas lutas. Histria
de vida de Luz Ortiz. Caracas, Venezuela.
REDE DE APOIO PELA JUSTICIA E A PAZ (2006) Impunidade na Venezuela 2000-2005.
Pesquisa documental de violaes aos direitos humanos e mecanismos de impunidade.
Srie de cadernos Pensar direitos humanos. N9
Reforma Policial na Venezuela: uma Experincia em Curso
215
Comunicao
A POLCIA EM SOCIEDADES PS-CONFLITO
Edgardo A. Amaya Cbar*
INTRODUO
Um dos temas-chave dos processos de pacificao (peace
bui l di ng), em pa ses que saem de per odos de conf l i to, o
restabelecimento da ordem, como pressuposto para a recuperao
da institucionalidade. No quadro das aes de cooperao internacional
para processos de paz, foram desenvolvidas diferentes estratgias para
alcanar esse objetivo, a partir de tipos e graus de interveno em
diferentes situaes conflituosas.
Em processos blicos de grande envergadura, como na guerra
dos Blcs ou em diversos conflitos armados na frica, onde alm dos
processos de pacificao h, paralelamente, processos de construo
de estado (state building), foram realizadas intervenes por foras
internacionais militares como uma primeira medida de restabelecimento
da ordem, segui da de posteri ores i ntervenes para o
desenvolvimento de condies para a nomeao de autoridades que
administrassem a transio. Mas, uma vez iniciada essa trajetria, e
com a paulatina sada do atores militares, nacionais ou internacionais,
permanecia a necessidade de manuteno da ordem. Dessa forma,
verifica-se que o fortalecimento ou desenvolvimento de uma fora
policial para tais fins indiscutvel.
Regularmente, pases que saem de amplos conflitos ficam com uma
institucionalidade debilitada e com pouca capacidade de reverter essa
situao. A cooperao internacional, em diferentes nveis e formas, tem
apoiado os processos de pacificao, mediante o envio de foras militares
no cumprimento de misses de paz. Mas, ao mesmo tempo, registrou-se
uma crescente demanda de assistncia tcnica em matria policial, pelos
desafios que j foram assinalados. Diversos pases da Amrica Latina na
atualidade contribuem com misses de paz em diferentes partes do mundo.
Por isso, o conhecimento de fatores relacionados atuao policial em
sociedades ps-conflito de grande interesse para que, eventualmente,
quando tenhamos que participar dessas iniciativas, saibamos assumir alguns
* Coordenador da rea de Segurana Pblica e Justia Penal da Fundao de Estudos para a
Aplicao do Direito (Fespad)
dos desafios que aqui so colocados.
E
L
S
A
L
V
A
D
O
R
216
CONTEXTOS
Existem casos em que as dimenses dos conflitos fragmentam ou
dividem as sociedades. Assim, parte do processo de pacificao requer
a gerao de medidas que, como premissa para a desativao da
conflagrao, garantam a segurana dos integrantes dos grupos em diviso
ou discrdia. Por exemplo, diversos pases, como El Salvador ou Ruanda,
tiveram que realizar, em maior ou menor medida, reformas no setor de
segurana como parte de seus respectivos processos de paz, para
minimizar a inrcia oriunda do perodo do conflito ou a sua manipulao
por grupos sediciosos remanescentes.
A reforma do setor de segurana
1
, inserida em um processo de
pacificao em sociedades ps-conflito, est orientada para a formao
de instituies neutras, ou acima dos interesses que originaram a
dissenso, e capazes de administrar os novos tipos de conflitos que
surgem nos seus respectivos contextos. Essas mudanas incluem
processos de reforma policial que criam novas instituies policiais ou
transformam as j existentes.
Diversas sociedades sob regimes autoritrios ou ditatoriais, como
muitos pases da Amrica Latina, algumas delas precedidas de conflitos
armados internos, como no caso salvadorenho, realizaram processos
de mudana ou transies polticas, que geraram mudanas institucionais
para desmontar as estruturas do Estado anterior e que, geralmente,
buscariam a implantao de um regime democrtico (liberdades civis e
polticas, eleies limpas, competitivas, plurais e peridicas).
No cenrio de conflitos, ou no Estado autoritrio ou pr-transio,
regularmente, o aparelho coercitivo (foras de segurana) desempenhou
um papel fundamental como instrumento de gesto do poder, tal como
se verifica nos antecedentes da reforma policial em El Salvador.
Uma vez iniciada uma transio poltica que vise superar esse estado
prvio e que seja orientada para a adoo de um regime democrtico,
necessrio suplantar ou minimizar a influncia dos atores autoritrios
pr-transio e a potencialidade desses em bloquear ou sabotar o
processo, como, por exemplo, atravs da capacidade de controle da
populao (Cruz 2005: 242). por isso que a reforma do setor
segurana um aspecto fundamental da transio, no s pela mudana
A polcia em sociedades ps-conflito
217
de relaes de poder na gesto do controle social, mas tambm pelas
transformaes da atividade de gerenciamento de conflito dessa sociedade.
Como parte da desmontagem das estruturas pr-transio, a
transformao das foras policiais um aspecto comum em vrios processos
de mudana. Tais processos so denominados como reformas policiais.
Mesmo que no se encontre na literatura um esforo exaustivo na
definio do que uma reforma policial, segundo Candina (2005) essa
teria duas grandes caracterizaes: por um lado, seria um conjunto de
transformaes institucionais em padres normativos e aspectos
organizacionais, para alcanar maior eficincia e eficcia na funo policial
em uma sociedade concreta. Essa viso estaria mais perto da idia de
modernizao. Em uma segunda abordagem, seria uma linha de
transformao ou mudana de corpos policiais para formas de exerccio
da funo policial, emoldurada na responsabilidade democrtica do
respeito ao Estado de Direito e aos direitos humanos. nesse ponto
que a atuao da polcia exerce um papel transcendental, como um
instrumento de pacificao.
DESAFIOS
Desmilitarizao e definio de papis
A literatura sobre os processos de reforma do setor segurana e,
em particular, de reforma policial em sociedades ps-conflito, so
praticamente unnimes em reconhecer que um procedimento bsico a
separao das funes das Foras Armadas daquelas inerentes atividade
policial, assim como a necessidade de que as Foras Policiais encontrem-
se sob o comando de autoridades civis, fora da influncia militar.
As razes para a adoo desse critrio de ao so variadas. Talvez
as de maior relevncia so as que tm a ver com o papel negativo
protagonizado por foras de segurana militarizadas em diversos conflitos
armados, como violadores dos direitos humanos. Mesmo que isso no
implique em uma regra obrigatria, onde exista uma relao direta entre
uma coisa e a outra, a experincia histrica ressaltou esse fator e colocou
Edgardo A. Amaya Cbar
como uma questo fundamental na hora de reformar o setor de segurana.
218
Em segundo lugar, temos questes de identidade e de adequao
institucional. Os exrcitos tm como misso a defesa da soberania e da
territorialidade do Estado, em casos de confrontos de grande monta. Por
isso, seus mecanismos de interveno so os apropriados para tais
circunstncias. Em concordncia com sua misso, sua forma de atuao
est condicionada pela eliminao de ameaas claramente identificadas e
que so catalogadas como alvos militares.
Por outro lado, as foras policiais, desdobradas na vida cotidiana da
sociedade, devem enfrentar a complexidade da agitao que se manifesta
em diversos espaos e intensidades. Por isso, sua viso do conflito no
pode ser taxativa. A polcia se movimenta em um espao cinzento e,
portanto, necessita de um padro e de formas de interveno compatveis
com o complexo entrecruzado social em que atua. Deve ser considerado,
alm disso, que as pessoas com as quais cotidianamente interage so seus
pares, e no seus inimigos.
Deve se ter em conta que, embora a militarizao faa referncia a
um tipo de relao orgnica entre polcia e foras militares, no se limita a
ela, mas tambm opera no marco de entidades supostamente civis, que
adotam metodologias castrenses de organizao, desdobramento e
relacionamento com a sociedade (Palmieri 1998). Por isso a
desmilitarizao passa pela adoo de uma identidade, forma de
organizao e formao civil das foras policiais, baseadas em uma doutrina
democrtica de segurana pblica, submetidas a autoridades civis e
auditoria social, como qualquer instituio pblica.
Legitimidade e credibilidade
O primeiro grande desafio que a instituio policial enfrenta em
uma sociedade ps-conflito o da legitimidade e respeito por parte de
todos os atores sociais. Por esse motivo, deve contar com procedimentos
claros de respeito aos direitos humanos e de aproximao da comunidade,
que a diferenciem de antecedentes negativos, como a instrumentalizao
de foras policiais, em um contexto de conflito, para fins de perseguio
poltica e represso de opositores.
No caso de Ruanda, uma das medidas adotadas foi a criao, atravs
de um difcil processo, de uma fora policial composta por elementos
dos antigos bandos oponentes no genocdio. No caso salvadorenho, mesmo
A polcia em sociedades ps-conflito
219
que originalmente tenha sido definida a criao de uma polcia
completamente nova, no processo de negociao foi estabelecido que as
partes que se enfrentaram teriam uma quota de 20% cada uma do plantel
policial previsto no novo corpo, e os 60% restantes seriam de pessoal
completamente novo, sem vinculos com o conflito armado
2
.
No caso da reforma policial na Guatemala, depois dos acordos de
paz de 1996, basicamente foi reciclado o antigo pessoal policial, sem um
processo formativo rigoroso prvio
3
. Esse cenrio foi posteriormente
considerado por analistas como causa de deteriorao e do desprestgio
de uma polcia com graves problemas de violncia, abusos e corrupo.
Todas as reformas devem partir de estruturas e pessoal existente;
no uma opo factvel realiz-las de outra forma, salvo em circunstncias
excepcionais. No obstante, a maneira como os antigos agentes de
segurana so includos na reforma deve ser rigorosamente regulada e
verificada, para evitar que violadores de direitos humanos ou pessoas de
antecedentes nocivos contaminem a nova institucionalidade.
A imparcialidade ou neutralidade da fora policial, face s
divergncias de conflitos de grupos sociais, indispensvel para a
manuteno da ordem e para a legitimidade social da instituio. A misso
consiste em garantir o respeito aos direitos e s liberdades dos cidados
por igual, assim como a interveno oportuna, profissional e objetiva na
aplicao da lei, de maneira indistinta perante os envolvidos.
Violncia ps-conflito
Outro aspecto que deve ser considerado como uma varivel
importante nos processos de transio ps-conflito ou transies polticas,
o surgimento de novas fontes de agitao social, que se traduzem no
aumento do delito, devido ao processo de readequao social que se
encontra em fase de adaptao, o que supe um transe anmico, enquanto
so ajustadas as condies da institucionalidade.
Esse aspecto muito delicado, pois gera mltiplos dilemas.
Desenvolver um processo de reforma policial em um contexto de violncia
social e demanda cidad de segurana, um desafio sumamente complexo.
Concomitantemente obrigao de desenvolver uma instituio policial
profissional, est a necessidade de favorecer o crescimento quantitativo
Edgardo A. Amaya Cbar
220
para efeitos de cobertura, acima das necessidades de qualificao.
Outra tentao que enfrentada no contexto que analisamos,
o do efectismo, isto , forar a reao policial de controle do delito e,
por essa via, desvalorizar o papel policial de proteo de direitos e
liberdades da cidadania. Seria paradoxal e contraditrio a busca da
(..) ordem e da estabilidade por meio da involuo dos processos
democrticos e do respeito aos direitos humanos
4
.
Esse contexto demanda a necessidade de implementao de
estratgias orientadas reduo de certas variveis, associadas aos
ndices delitivos ps-conflitos. Algumas estratgias so de nvel
superior, tais como aspectos redistributivos e de ateno a setores
populacionais necessitados, assim como programas de insero de
antigos adversrios blicos e a implementao de controles sobre
vetores de grande impacto na violncia, como os remanescentes de
armas circulantes ou grupos renegados do processo de pacificao ou
transio, que possam constituir-se em potenciais poderes de fato,
que trunquem ou dificultem a transio.
No n vel do desdobramento terri tori al , deve se dar uma
aproximao entre a polcia e a comunidade, como um mecanismo
para minimizar ou diminuir as velhas desconfianas mtuas que possam
existir, gerar confiana e promover o reconhecimento mtuo. Uma
parte dos processos de pacificao ps-conflito fundamenta-se na
capacidade das instituies de poder gerar confiana, credibilidade e
estabilidade na populao.
Reforma, ao e inovao
Muitas vezes, as reformas policiais, ou do setor de segurana,
em contextos de processos de paz ou de transies polticas, esto
moti vadas por um hi stri co de foras de segurana vi ol entas,
descontroladas e corruptas, de tal sorte que as propostas de reforma
so definidas em oposio a tais antecedentes.
No entanto, no basta, nem suficiente, somente contar com
uma pol ci a control ada, com um regi me l egal progressi sta e
transparente. As polcias devem ser eficientes e eficazes para pacificar
A polcia em sociedades ps-conflito
221
a sociedade da qual fazem parte, e, para isso, necessitam ser dotadas
de ferramentas inteligentes de interveno e respostas a demandas
sociais de segurana. Isso implica a gerao e instalao de sistemas
de informao, anlise e inteligncia policial que permitam contar com
um panorama do que acontece na sociedade e possibilite aes precisas
e contundentes.
Tal como o expressa Rachel Neild, ante as experincias anteriores
nesse ponto: (...) foi comprovado que era mais fcil fundar uma nova
fora policial com legitimidade poltica, que com credibilidade operacional
5
.
E, nessas circunstncias, a tentao por remilitarizar ou reverter o que foi
realizado muito forte para determinados atores polticos.
Por outro lado, a formao do recurso humano fundamental
no s no seu carter deontolgico (valores institucionais e sociais,
em relao aos direitos humanos) mas para o efetivo e correto
desempenho de suas tarefas, isto , formao prtica orientada
soluo de problemas. Poderia ser feita uma comparao com o futebol:
no basta saber as regras do futebol. preciso saber jogar, conhecer
a cancha e as jogadas, assim como melhor-las constantemente, para
manter o nvel. Uma formao policial adequada pode, por exemplo,
ajudar a criar quadros policiais partidrios de uma nova concepo
dos direitos humanos e da liderana civil
6
.
A eficincia no s uma questo referente ao seu mandato
pacificador, mas tambm diz respeito sua organizao interna e
capacidade de gesto.
Transparncia e responsabilidade institucional
Como colocamos anteriormente, existe uma urgente necessidade
de dotar a polcia de legitimidade e credibilidade em uma sociedade
fragmentada. Uma das formas de resguardar essa credibilidade e
legitimidade, assumindo o controle da funo policial no respeito
aos direitos humanos, como um elemento essencial da transparncia
institucional. Na medida em que a sociedade percebe que a polcia
conta com mecanismos ativos (internos ou externos) para controlar e
investigar feitos irregulares ou violaes dos direitos humanos, ter
maiores garantias que no ser objeto de abusos e, dessa forma, as
possveis desconfianas sero canalizadas nessa direo.
Edgardo A. Amaya Cbar
222
Responsabilidade democrtica
Esse, provavelmente, um desafio que no corresponde somente
instituio policial, mas tambm a suas autoridades civis. A polcia, mesmo
tendo uma dependncia orgnica do Poder Executivo, e obedecendo a
suas diretrizes, no deveria responder a agendas particulares do tipo
partidrio, ou de motivao poltica, alheias sua funo.
Isso supe tenses particularmente difceis frente a certas liberdades
democrticas, tais como a manuteno da ordem em contextos de protesto
social. Enquanto, por um lado, possa existir um interesse governamental
em aplacar o clamor popular que desprestigia sua poltica e, para isso,
intervir policialmente nos protestos, por outro, devemos possa o princpio
policial de respeito aos direitos humanos, entre eles, o da livre manifestao
e expresso da sociedade.
Nesse sentido, a presena de mecanismos de controle institucional
e poltico (Parlamento), que garantam a transparncia da funo policial,
indispensvel para resolver ou prever alternativas de resposta frente a
essas tenses.
CONCLUSES
Antes de emitir concluses, o mais prudente fazer uma advertncia:
o que aqui foi apresentado um resumo a partir de diversas experincias
e lies aprendidas em variados contextos, com diferentes nveis de
sucesso ou fracasso. No existem receitas nicas. As solues e
intervenes dependem de contextos concretos e dos equilbrios de
poder estabelecidos.
No obstante, existe um consenso em manifestar que, para o sucesso
da pacificao de uma sociedade ps-conflito, necessria uma fora
policial socialmente legtima, que tenha um efeito demonstrativo de
estabilidade e construo de institucionalidade. E a forma de alcanar isso
atravs do estabelecimento de uma polcia respeitosa dos direitos
humanos, eficiente, eficaz, transparente e democraticamente responsvel,
que atue a servio de toda a sociedade.
O xito do pressuposto anterior est condicionado s limitaes
A polcia em sociedades ps-conflito
223
prprias de cada processo. A presena de atores externos (internacionais)
que supram a ausncia ou debilidade da vontade poltica interna, as
necessidades financeiras e tcnicas, e que verifiquem o rigor do processo
de implementao e o desempenho da fora policial, foi um dos mais
poderosos instrumentos para viabilizar esses processos.
A principal meta a ser alcanada por uma polcia em uma sociedade
ps-conflito mostrar-se como um exemplo de reconciliao e de
superao do enfrentamento passado. E, para isso, deve erigir-se como
uma instituio obediente a autoridades civis democraticamente escolhidas
e imparcial quanto aos diversos atores sociais e polticos com os quais
interage. O estabelecimento de uma viso e misso claramente orientadas
pelo respeito aos direitos humanos e pela transparncia institucional, so
aspectos basilares para obter credibilidade e autoridade moral ante a
sociedade. Mas, igualmente importante, o desempenho de instituies
atentas s demandas sociais e capazes de dar respostas efetivas e eficientes,
que permitam uma pacificao social sustentvel.
Notas
1
O setor de segurana: Engloba aquelas instituies pblicas com atribuio de produzir
segurana, junto com aquelas que asseguram seu controle democrtico, gerncia e superviso
() Deve-se assinalar que isto se refere a um tipo ideal de como as estruturas do Estado foram
tradicionalmente ajustadas para fornecer segurana pblica. Isto pode diferir grandemente das
realidades das situaes nas quais muitos processos de reformas esto sendo levados a cabo. H,
certamente, aqueles atores como vigilantes, foras de defesa civil e companhias de segurana
privadas, que so, em certos aspectos, um sintoma do fracasso das instituies do Estado em
fornecer segurana pblica, lei e ordem () Estas no necessariamente devem ser excludas do
setor de segurana, mas colocam perguntas cruciais sobre seu controle e regulao, para assegurar
que podem prestar contas. Lilly, Damian; Robin Luckham e Michael von Tangen Page.
Governabilidad y reforma del sector seguridad: Un enfoque orientado a metas. Londres,
International Alert, 2002. Pg. 9
2
No caso salvadorenho, o processo de incorporao de antigos elementos dos corpos de segurana
foi objeto de duras crticas, devido a seus vnculos com graves violaes aos direitos humanos.
Posteriormente, membros desse pessoal participaram de graves atos de violncia poltica, que
geraram uma crise no processo de paz, ver: Costa, Gino. La Polica Nacional Civil de El Salvador
(1990-1997), San Salvador, UCA Editores, 1999. Por isso a lio aprendida que a criao de
um novo corpo necessita dos melhores e maiores filtros possveis, para evitar o ingresso de
elementos nocivos que possam rachar a confiana na nascente polcia.
3
Neild, Rachel. Sosteniendo la reforma: Polica democrtica en Amrica Central. Boletn Enfoque:
seguridad ciudadana, WOLA, Washington, outubro, 2002. Pg. 3
4
Washington Office on Latin Amrica. Desmilitarizar el Orden Pblico. La Comunidad
Internacional, la Reforma Policial y los Derechos Humanos en Centromrica y Hait. Wola,
Washington, 1996. Pg. 1.
5
Neild, Rachel. Sosteniendo la reforma: Polica democrtica en Amrica Central. Boletn Enfoque:
Edgardo A. Amaya Cbar
224
seguridad ciudadana, WOLA, Washington, outubro 2002. Pag. 2.
6
Ibid., Pg. 20.
Bibliografia e Referncias
Amaya Cbar, Edgardo. Polticas de Seguridad en El Salvador 1992-2002. In: Bayley, John y
Luca Dammert (Eds.) Seguridad y Reforma Policial en las Amricas: Experiencias y desafos,
Mxico, Siglo XXI editores, 2005.
Candina, Azun, 2005. Carabineros de Chile: una mirada histrica a la identidad institucional.
In: Bayley, John y Luca Dammert (2005) Seguridad y reforma policial en las Amricas. Experiencias
y desafos. Mxico, Siglo XXI editores, 2005. Pgs. 145-167.
Costa, Gino. La Polica Nacional Civil de El Salvador (1990-1997), San Salvador, UCA Editores,
1999.
Cruz, Jos Miguel. Violencia, inseguridad ciudadana y las maniobras de las lites: la dinmica
de la reforma policial en El Salvador. In: Bayley, John y Luca Dammert (Coord.) (2005)
Seguridad y reforma policial en las Amricas. Experiencias y desafos. Mxico, Siglo XXI editores,
2005, Pgs. 239-270.
Lilly, Damian; Robin Luckham y Michael von Tangen Page. Gobernabilidad y reforma del sector
seguridad: Un enfoque orientado a metas. Londres, International Alert, 2002.
Neild, Rachel. Sosteniendo la reforma: Polica democrtica en Amrica Central. Boletn Enfoque:
seguridad ciudadana, Washington, WOLA, outubro, 2002.
Palmieri, Gustavo. Reflexiones y perspectivas a partir de la reforma policial en El Salvador. En
Revista Pena y Estado N 3 Polica y sociedad democrtica, Buenos Aires, Programa
Latinoamericano de investigacin conjunta en poltica criminal (PLIC/PC),1998.
Washington Office on Latin America (WOLA). Desmilitarizar el Orden Pblico: La Comunidad
Internacional, la Reforma Policial y los Derechos Humanos en Centroamrica y Hait. Washington,
WOLA, setembro, 1996.
A polcia em sociedades ps-conflito
225
Relato Policial
E
L
S
A
L
V
A
D
O
R
A PLATAFORMA DO MODELO DE POLCIA
COMUNITRIA DE EL SALVADOR
Olga Alfaro de Pinto*
Consiste em estabelecer um modelo de polcia comunitria em El
Salvador, com base em estudos de outros modelos de sucesso no mundo,
o processo est sendo desenvolvido pela Secretaria de Relaes com a
Comunidade da qual sou atualmente chefe.
Meta alcanada at a data: o compromisso e aceitao do diretor
da Polcia Nacional Civil para que seja elaborada a proposta do modelo e
a sua execuo.
Ameaas: A possibilidade de alguns chefes se oporem ao processo.
Antecedentes:
A PNC nasce como um acordo poltico dentro do contexto dos
Acordos de Paz em 1992. Seu principal ponto forte o equilbrio
democrtico de seus integrantes, originrios dos setores imersos no
conflito armado em que se privilegiou a participao de uma alta
porcentagem de profissionais acadmicos universitrios no vinculados
ao conflito de nveis superior, executivo e, em alguma medida, bsico.
O Acordo Poltico para a formao da Polcia Nacional Civil
composto da seguinte forma:
20 % agentes oriundos dos antigos corpos de segurana
(polcia, guarda nacional, polcia de hacienda corpo
*
Inspetora da Polcia Nacional Civil, Mestre em Direitos Humanos e doutoranda em projetos de
pesquisa e aplicaes em Psicologia e Sade (Universidade de Granada-Espanha).
de segurana fiscal)
20 % de agentes oriundos da guerrilha.
60 % de elementos oriundos do setor civil (profissionais
universitrios).
Atualmente, a maioria de seus agentes, em diversos nveis,
completaram estudos superiores, como por exemplo:
Bsico: 60 % aprox. com nvel de educao superior,
sem ttulo
226
Executivo: 99 % aprox. com nvel superior (bacharel)
Superior: 70 % aprox. com nvel superior (bacharel)
importante mencionar que como qualquer polcia do mundo os
recursos so limitados e, no nosso caso, no foi planejada a construo de
instalaes prprias e a renovao dos recursos.
Ao longo dos 14 anos da criao da Polcia Nacional Civil esta vem
sofrendo uma deteriorao quanto qualidade do servio policial, alm
de ter sido questionada por diversos atos de corrupo, de faltas leves
at gravssimas (execues e roubos), e a sociedade civil, os meios de
comunicao, a empresa privada e as instituies vinculadas aos direitos
humanos que denunciam tais aes.
De dentro, como o meu caso, como chefe policial, vemos esta
deteriorao como conseqncia de no haver manuais de procedimento
definidos, alm de uma superviso inadequada e outras situaes do tipo,
e nos sentimos impotentes junto a outros chefes policiais diante de tal
situao.
No entanto, a raiz desta situao, precisamos iniciar una reengenharia
da Instituio Policial, da qual somos participantes muitos membros da
polcia que temos incidncia tcnica sobre as mudanas a serem realizadas.
Duas das grandes linhas consideradas para iniciar so as seguintes:
1.- o processo de elaborao de um manual de polcia
comunitria e o modelo de polcia comunitria que
estaria sendo colocado em prtica durante 2008
2.- um componente essencial a estratgia de
conseguir a mudana de atitude de cada um dos
membros da instituio para assimilar o modelo e isto
uma campanha interna denominada Resgate da
nossa razo de ser.
Em sntese a proposta :
Fortalecer as estratgias da relao entre polcia e comunidade,
com estrito respeito aos direitos humanos e dignidade das pessoas.
Plataforma del Modelo de Polica Comunitaria de El Salvador
227
Fica sob responsabilidade da Secretaria de Relaes com a
Comunidade (SRCC) e suas unidades, a administrao das polticas,
estratgias, planos, programas e modelos de preveno e participao
cidad, implementados pelas chefaturas das dependncias policiais.
Cada Chefe policial deve colaborar e coordenar de forma funcional
o trabalho, segundo requerido pela SRCC e suas Unidades.
Cumprir o mandato policial, dedicando-se prioritariamente
resoluo dos problemas da comunidade numa relao de parceria,
participando da preveno social da violncia e delinqncia, impulsionando
e/ou acompanhando diversos programas preventivos institucionais, assim
como melhorando a qualidade de ateno cidadania na denncia e
investigao.
Segundo os Acordos de Paz e a Lei Orgnica da Polcia Nacional
Civil, fica implcito todo o exposto anteriormente, considerando que se
pode avanar para melhorar os servios policiais em El Salvador.
A resistncia a uma Polcia Comunitria por si um desafio, um
desafio em relao aos que comandam a polcia e desafio aos polticos
deste pas, no entanto, devido s mudanas causadas pela globalizao, a
situao geogrfica deste pas, a imigrao e a excluso, que a tornaram
violenta e vulnervel, tudo isto contribuiu a que se d importncia a gerar
uma mudana institucional, mostrando que a segurana pblica um
baluarte para a democracia de qualquer pas.
Olga Alfaro de Pinto
228
229
PARTE II - POLCIA E POLCIA
Caracteriza a polcia na sua instrumentalidade. Diz respeito
organizao, contedo, gesto e modalidades do trabalho
policial, circunscrevendo a cadeia de comando e controle,
comunicao, inteligncia e computao (C3IC).
Reporta-se aos condicionantes polticos, estratgicos,
tticos e logsticos para o desenho e o emprego dos
recursos policiais.
Refere-se aos elementos de contorno para a avaliao
da polcia em relao aos seus fins e diante de seus meios.
230
B
R
A
S
I
L
Artigo
BASES CONCEITUAIS DE MTRICAS E PADRES
DE MEDIDA DE DESEMPENHO POLICIAL
1
Profa. Dra. Jacqueline de Oliveira Muniz
*
Prof. Dr. Domcio Proena Jnior
**
1. INTRODUO
Como medir o que a polcia faz? necessrio tratar a questo de
frente. Buscar refgio nas perspectivas de que a avaliao policial seria um
saber inicitico, vedado a quem no tenha a vivncia policial, ou que o
trabalho da polcia se resume a dar insumos ao sistema de justia criminal
e agncias de assistncia social, ou a alguma relao entre efetivos policiais
e populaes policiadas, so blsamos que anestesiam, mas no do
soluo. So insuficientes para avaliar a polcia. Induzem a erros
corporativistas, funcionalistas ou empiricistas que acabam por ignorar o
que a realidade do trabalho policial, chegando a inverter os termos de
seus sucesso e fracasso. Reduzir a polcia aos resultados pontuais de aes
espetaculares ou memorveis, aos nmeros de pessoas e bens apresados,
convergncia com alguma medida de proporo demogrfica esvazia a
funo policial, simplificando-a em cifras progressivamente estreis. De
tais perspectivas, emerge a falsa impresso de que no haveria como
aferir o desempenho policial propriamente dito, ou pior ainda, que o que
a polcia faz, e como faz, irrelevante em si mesmo. Seria ento impossvel
formular e, por sua vez, avaliar, qualquer orientao ou poltica pblica
(policy) sobre a polcia [Cusson 1999 cf. Reiner 1996, Sacco 1996, Diedizic
1998 e Walker 2004].
Nada disso se sustenta diante da literatura de estudos policiais
[Bayley 1996, Kelling 1996]. Mas mesmo essa literatura reconhece que
medir o que a polcia de fato faz um dos maiores desafios contemporneos
para a Segurana Pblica
2
, e isso basta para colocar a sua relevncia
3
.
Neste ambiente, compreende-se que vicejem modismos, em que
um ou outro arranjo parcial, independente de sua aplicabilidade e valor
*
Profesora do Mestrado em direito da Universidade Candido Mendes. Diretora Cientfica do
Instituto Brasileiro de Combate ao Crime (IBCC). Consultora da Rede de Policiais e Sociedade
Cvil na Amrica Latina.
**
Professor da Coppe/UFRJ, Ordem do Mrito da Defesa, Membro do Instituto Internacional de
Estudos Estratgicos (IISS, Londres) e da Associao Internacional de Chefes de Policia (IACP,
Leesburg, Va), Diretor Cientfico do Instituto Brasileiro de Combate ao Crime (IBCC).
231
pontual, acabe erigido em frmula capaz de dar conta do desempenho
policial. Isso particularmente danoso quando indicadores so
transplantados de uma realidade social para outra, sem qualquer ateno
para as circunstncias, contextos e limites de sua aplicao original. Passa-
se o tempo, por vezes um tempo breve, e a incapacidade do modismo da
ocasio acaba levando a um novo modismo. Diversas abordagens teis
em seus locais e para seus propsitos de origem foram destrudas pela
implantao apressada, distorcendo o que pudessem informar e
alimentando um ceticismo quanto utilidade de qualquer abordagem
4
.
A questo compreender que indicadores e abordagens necessitam
de insero mais ampla para que possam contribuir de maneira significativa
ao entendimento. Isso expressa, em parte, a necessidade de se situar um
indicador ou abordagem em termos de sua origem, que inclui os elementos
normativos tanto quanto as expectativas e representaes sociais do que
seja e para que exista a polcia. Mas expressa de maneira decisiva que s
se pode dar uso, ou apreciar, ou criticar um indicador ou abordagem
quando se tem claro os termos pelos quais eles expressam o entendimento
sobre o que e porque medir.
Esse o rumo proposto para o presente texto. Estabelecer os termos
pelos quais se pode dar conta do que relevante medir para avaliar o
desempenho policial, compartilhando de maneira transparente porque so
estes os termos necessrios e suficientes para dar conta da realidade da
polcia. Prope-se estabelecer as bases conceituais das mtricas do
desempenho policial, das quais depende a capacidade de produzir padres
de medida que tenham significado, constituindo o substrato conceitual da
apreciao, uso e crtica de todo e qualquer indicador ou abordagem.
Para isso, inicia-se pela apresentao da teoria de polcia, que
enquadra os fenmenos da realidade policial, explicando-os e relacionando-
os. Em seguida, apresentam-se de maneira sumria os elementos
conceituais de mensurao do desempenho. A isso se segue o corpo
principal da apresentao: a instituio de mtricas e padres de medida
capazes, necessrios e suficientes de lidar com o cerne teoricamente
identificado do lugar de polcia: o exerccio autorizado do uso de fora
sob a lei. Finalmente, apresentam-se algumas consideraes finais sobre
as circunstncias e a utilidade potencial da capacidade de avaliao do
desempenho policial.
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
232
2. TEORIA DE POLCIA: O MANDATO POLICIAL
Alguns dos mais influentes autores contemporneos do campo dos
Estudos Policiais no elaboraram uma teoria da polcia que buscasse dar
conta do fenmeno policial. Optaram por abordar questes especficas
acerca das prticas policiais. Skolnick [1966] aponta como o dilema entre
lei e ordem estrutural e permite compreender as prticas policiais nas
sociedades democrticas. Muir Jr. [1977] ambiciona analisar as dinmicas
de poder pela caracterizao de diferentes tipos-ideais de coero nas
interaes entre policiais e cidados. Klockars [1985] apresenta a tenso
constitutiva entre prticas ostensivas e investigativas como reveladora da
natureza do trabalho policial. Bayley [1985] prope uma teorizao do
policiamento ao longo da histria, em busca de uma compreenso dos
diversos mecanismos de regulao e controle social. Neocleous [2000b]
teoriza sobre as funes sociais da polcia, enfatizando o seu papel como
um instrumento de dominao de classes. Rathz [2003] oferece uma
sntese das prticas policiais com relao ao uso da fora, afirmando que
uma teoria da polcia, ainda que til, no necessria para o entendimento
da ao policial. Feltes [2003] vai mais longe afirmando que inexiste uma
teoria de polcia e que seria necessrio constru-la. Proena Jr & Muniz
[2006b] desdobram a teoria de polcia de Bittner, evidenciando as
implicaes do mandato do uso da fora nos processos de auto-regulao
social, a partir da anlise dos experimentos de patrulha em Kansas City e
Newark e das greves policiais no Brasil. Todos estes trabalhos dialogam,
de maneira direta ou indireta, mais ou menos explcita, com a proposta
de Bittner [1974] de uma teoria de polcia
5
, cujo centro a conceituao
do mandato policial.
2.1. Conceito e Praxis de polcia a partir de Bittner
De acordo com Bittner, o mandato autorizativo da polcia o uso
da fora. O conceito de polcia corresponde proposio de que a polcia,
e apenas a polcia, est equipada [armada e treinada], autorizada [respaldo
legal e consentimento social] e necessria para lidar com toda exigncia
[qualquer situao de perturbao da paz social] em que possa ter que
ser usada a fora para enfrent-la. [Bittner 1974: 256]. Esta conceituao
de polcia pretende superar a perspectiva de que a dicotomia entre oficial
da lei e oficial da ordem explicaria todo o contedo do trabalho policial
[Banton 1964], sendo a soluo para o clssico dilema entre lei e ordem
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
233
[Skolnick 1966, Muir Jr 1977]. Ao conceituar a polcia como uma realidade
que compreende, mas no se reduz, s prticas de policiamento, Bittner
revela a iluso emprica, simplista, que equivale o que as polcias fazem
ao porque fazem e, com isso, ao que a polcia . Expe como tal lapso
ou relapso do olhar reifica as formas departamentais de diviso do trabalho
policial, patrulha e investigao, como expresses necessrias e suficientes,
nicas e ltimas do lugar de polcia [cf. Bittner 1967, 1970, 1983].
Bittner reconstitui a integralidade do trabalho policial dando conta de
duas dimenses empricas: o que se espera que a polcia faa e o que ela de
fato faz. Identifica o uso da fora como o atributo comum que articula as
expectativas sociais em tudo que a polcia chamada a fazer e o contedo
substantivo de tudo que a polcia faz. Estabelece, desta forma, a plenitude
do mandato policial, delimitando conceitualmente o que a polcia .
Porque a polcia est autorizada a usar da fora, e se espera que ela
o faa sempre que isso seja necessrio, que ela chamada a atuar quando
algo que no deveria estar acontecendo est acontecendo e algum deve
fazer algo a respeito agora (Bittner 1974: 249, nfases no original). Isso
revela porque a polcia pode atender a emergncias, respaldar a lei,
sustentar a ordem pblica, preservar a paz social, ou desempenhar
quaisquer outras funes sociais. Esclarece porque as polcias executam
as mais diversas formas ou padres de policiamento. Enfim, explica que a
polcia seja chamada a atuar, e atue, em todas as situaes em que a fora
possa ser til.
Por que a polcia que chamada quando a fora pode ser til? O
que distingue o uso de fora pela polcia do uso de fora por quaisquer
outros atores? A polcia uma resposta ao desafio de produzir enforcement
sem que este leve tirania ou passe a servir interesses particulares. Por
esta razo, o uso de fora pela polcia tem um propsito poltico distintivo
e invariante: produzir alternativas pacficas de obedincia sob consentimento
social, no Imprio da Lei. Isto corresponde a uma destinao do uso da
fora para fins restritos e transparentes, de tais maneiras e com tais
controles, que o salvaguarde de se converter numa ferramenta de opresso
ou num instrumento a servio de indivduos ou grupos de poder.
A natureza poltica da polcia aqui se revela de forma clara e explcita:
a polcia o instrumento legal e legtimo de respaldo pela fora dos termos do
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
234
contrato social de uma determinada comunidade poltica (polity). A polcia se
interpe, e se espera que ela se interponha, entre vontades em oposio ou
interesses em conflito, em qualquer outra situao que ameace a paz social,
arrisque direitos e garantias, ou viole as leis. A polcia um instrumento de
poder, cuja interveno produz obedincia pelo uso apropriado de fora
sempre que necessrio, nos termos e formas da pactuao social. A
autorizao socialmente conferida para o uso de fora pela polcia objeto
de constante negociao na realidade social. Ela processual, ainda que os
seus contornos estejam dados por um consentimento prvio, oriundo do
pacto social, instrumentalizado numa dada forma de governana. Esta
autorizao social resulta do embate continuado entre as mltiplas dinmicas
de legitimao do mandato policial, as quais se alimentam das representaes
sociais acerca da polcia e da lgica-em-uso do fazer policial. A autorizao
da polcia para vigiar, intervir e usar de fora para produzir obedincia se
encontra, ela mesma, sob controle coletivo, submetida aprovao dos
olhares vigilantes dos grupos sociais.
A produo de obedincia respaldada pelo uso policial de fora
tem limites, seja em termos de sua aplicao, seja em termos do alcance
das solues que pode impor. Isto empresta um carter pragmtico e
finito soluo policial. Se, por um lado, a polcia pode impor uma soluo
imediata, de sua prpria lavra, sem admitir atraso, recurso ou recusa, por
outro, toda soluo policial expediente, parcial e finita no tempo. Assistir,
socorrer, dissuadir, comandar, sujeitar, submeter, ou o que quer que a
polcia possa fazer transiente e provisrio. A provisoriedade da soluo
policial reflete tanto a impossibilidade deste tipo de soluo dar conta das
causas dos eventos sociais em que a polcia intervm, quanto a inviabilidade
da sustentao de coero pela fora por tempo indeterminado.
A soluo policial se dirige a situaes, conflitos, atos e atitudes. Ela
uma resposta sua existncia e a seus efeitos, posto que os processos
sociais que os produzem esto aqum do lugar de polcia e alm do alcance
de sua instrumentalidade. A soluo policial est constrangida pela
legalidade e legitimidade que conformam o lugar de polcia. Isso, a seu
turno, determina as alternativas admissveis quando a polcia usa de fora,
exigindo, moderando, modificando ou proibindo determinadas escolhas
ou possibilidades tticas, de maneira que as alternativas de obedincia que
a polcia pode impor sejam pacficas. A polcia atua com estas regras de
enfrentamento, estabelecidas para assegurar que os meios no atentem
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
235
contra os fins, espelhando o pacto social de uma comunidade poltica
(polity) sob o Imprio da Lei. Porque a soluo policial resulta de uma
alternativa pacfica de obedincia sob consentimento social, ela admite
reviso, emenda ou reverso poltica, legal ou judiciria.
O poder de decidir sobre o tipo soluo mais adequada a um certo
tipo de evento, ou mesmo de decidir agir ou no agir numa determinada
situao, revela que a tomada de deciso discricionria a prxis essencial
da polcia. Por sua prpria natureza e contexto, a soluo policial s pode
ser produzida atravs de uma abordagem autnoma. A produo da soluo
policial, premida pelas circunstncias e exposta s contingncias da vida
social, revela uma temporalidade particular, transversal. A soluo policial
se d num tempo presente estendido. Inscreve-se numa sucesso de
eventos, conexos ou desconexos, contnuos ou descontnuos, envolvendo
dinmicas multi-interativas, cujas intensidade, densidade e conseqncia
impem a tempestividade do agir para o agente policial. Isto torna
impossvel pr-determinar a ao de cada policial em cada situao,
precisamente porque os elementos idiossincrticos presentes em uma
situao particular podem constituir o relevo mais importante na soluo
policial, e igualmente impossvel conhec-los at que se revelem de
maneira concreta, imediata, presente. O contedo do que seja a ao
policial no redutvel a um roteiro pr-determinado, nem passvel de
ser dirigido por outrem, nem mesmo afeito a um conjunto rgido de
princpios normativos. Isso caracteriza o trabalho policial como sendo
profissional no sentido estrito e tcnico do termo.
A deciso sobre a forma de agir pertence inescapavelmente ao
policial individual, que depende de seu poder discricionrio para poder
realizar o seu trabalho. Por conta disso, a ao policial est sujeita
apreciao poltica, social ou judicial apenas a posteriori. diante deste
entendimento que se pode compreender como a iniciativa da ao policial
resulta de uma avaliao ad hoc pelo agente policial. Esta avaliao est
sujeita a diretrizes amplas quanto a sua oportunidade e iniciativa, quanto a
sua prioridade e contedo, emanadas da organizao policial ou apreendidas
num determinado contexto. Ordinariamente ela se realiza independente
de um enquadramento legal prvio.
O poder discricionrio da polcia revela-se, ento, bem mais amplo
do que a autorizao do uso da fora [cf. Brooks 2001, por exemplo].
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
236
Reporta-se no apenas as oportunidade e propriedade do uso de fora,
mas alcana a pertinncia e a forma de toda e qualquer atividade policial,
uma vez que corresponde ao exerccio da governana, ao exerccio da
tomada de deciso poltica na esquina (streetcorner politics). Sem embargo,
o poder discricionrio ganha em complexidade e latitude quanto mais o
agente policial esteja envolvido com as tarefas de policiamento, as quais
esto, por sua visibilidade, mais expostas apreciao e ao controle sociais.
A contrapartida delegao aos policiais de poderes superiores
aos de um cidado comum, em especial a possibilidade do recurso
coero pelo uso de fora, a apreciao cotidiana dos atores sociais
diante de cada fazer de polcia. Estes atores reiteram, ou no, sua confiana
na polcia. Como resultado desta apreciao, confere-se, ou no,
legitimidade, emprestando ou no credibilidade s solues policiais. Sem
embargo do impacto potencial de desvios de conduta e erros, esta
apreciao que afere a aderncia das regras de enfrentamento e dos
procedimentos policiais aos termos presentes do mandato policial, sob
Imprio da Lei.
A esta altura, oportuno comentar alguns dos ganhos da posse de
um conceito de polcia. Conceituou-se polcia como sendo quem responda
pelo mandato do uso da fora sob consentimento social, no Imprio da Lei
em uma comunidade poltica (polity). Tal construto permite um
ordenamento consistente das realidades relacionadas com o uso da fora
no interior dos territrios, identificando de maneira clara quais delas
correspondem polcia, quais no e porque. Esta classificao se faz pela
apreciao das regras de enfrentamento, que determinam as alternativas
de uso da fora. Onde as regras de enfrentamento expressam o contedo
do mandato policial, tem-se polcia. Neste caso, o conceito serve para
que se possa apreciar o quanto as atividades de uma organizao policial
se aproximam ou se afastam do ncleo duro que singulariza o lugar de
polcia.
Do ponto de vista conceitual, qualquer organizao que atue, ou
passe a atuar, sob regras de enfrentamento que expressem o mandato
policial de facto polcia, independente se esta atuao permanente,
interina, ou pontual. Isso esclarece os termos pelos quais se pode fazer
uso das organizaes em um Estado para o cumprimento do mandato
policial, independentemente de sua destinao formal ou de sua identidade
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
237
institucional, como o caso, por exemplo, do uso dos contingentes
militares como polcia em Misses de Paz [Diedizic 1998, Hansen 2002]
que seguem dependentes da legitimidade da populaes que policiam,
mesmo que estrangeiras e sem um idioma em comum [Kelly 1998, Schmidl
1998]. Da mesma forma, revela que organizaes de fora que no atuam
sob regras de enfrentamento que expressem o mandato policial no so,
de facto, polcias, ainda que possam s-lo de jure, ou realizar uma ou mais
atividades que emulem o trabalho policial. Neste caso, a despeito de sua
origem domstica ou externa, caracterizam-se como foras invasoras,
de ocupao ou de represso ao dissenso, que sustentam distintas formas
de opresso sobre as populaes nos territrios em que atuam.
interessante observar que a conceituao de polcia traz consigo
um resultado curioso no que diz respeito ao relacionamento entre o Estado
Democrtico de Direito e o alcance da ao policial, que contraria o senso
comum. Ao contrrio do que se imagina, o crculo virtuoso da polcia
torna-se possvel e factvel medida em que avanam os processos de
constituio, expanso e consolidao dos direitos civis, polticos e sociais.
A garantia dos direitos constitudos e o reconhecimento de novos direitos,
difusos ou emergentes, justificam, ampliam, adensam e atualizam regras
de enfrentamento e procedimentos policiais adiante, simultaneamente ou
na esteira de sua expresso legal. Ensejam espaos e formas de controle e
participao social na administrao do Estado, induzindo espaos de
transparncia que propiciam o aperfeioamento das prticas policiais. Estas
dinmicas de transformao social vivificam os contornos do mandato
policial, levando a que surjam novas funes e atribuies para as polcias
que, neste contexto, tm cada vez mais o que fazer e insumo para faz-lo
cada vez melhor.
Assim, no no chamado Estado Policial que se teria uma era de
ouro das polcias. A rigor, o lugar de polcia sequer existe em tal Estado,
posto que ele se confunde com a prpria governana, correspondendo a
alguma forma de tirania. Em tal contexto, o consentimento social, o
Imprio da Lei, ou ambos, no informam o uso de fora. O apego a esta
fantasia pode alimentar-se da crena de que, num Estado Policial, as
solues policiais deixariam de ser provisrias e finitas, passando a ser
definitivas e completas, a ponto de promover uma sociedade quimrica,
sem desordem ou crime. Edifica-se, desta forma, uma falsa nostalgia de
que quando a polcia pode tudo ela uma polcia melhor.
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
238
2.2. Para alm de Bittner: os efeitos da polcia
Em seus termos originais, Bittner [1974] define polcia como o
exerccio autorizado do uso da fora no interior de uma dada comunidade
poltica. Contudo, no desdobra as implicaes de sua prpria formulao,
cujo mrito inegvel. No aprecia, de modo explcito e conseqente, o
que seja o uso da fora e as formas pelas quais a autorizao para o seu
emprego se expressa numa sociedade. Tudo se passa como se tomasse
os termos que emprestam singularidade ao mandato policial como
realidades presumidas, dadas a priori.
Tal ordem de naturalizao acaba por ocultar a realidade mesma da
prxis policial que sua prpria conceituao fez aparecer. Mesmo em textos
posteriores, Bittner [1990b] expressa um entendimento do uso da fora
como sendo pura sano, restrita unicamente ao ato fsico, sem
considerao da utilidade de seu potencial. Da mesma forma, num texto
escrito com David Bayley [Bayley & Bittner 1985] contenta-se em anunciar
a autorizao social como uma realidade auto-referida, abstrata, despida
das representaes, expectativas e contextos sociais que lhe emprestam
materialidade em termos da confiana pblica e da credibilidade policial.
Percebe-se como os contedos dos dois termos centrais do mandato
policial, uso de fora e autorizao social, ficam aqum da ambio
conceitual da prpria formulao terica de Bittner.
Para se compreender plenamente a prxis policial necessrio dar
conta, por um lado, da integralidade do uso de fora pela polcia, e por
outro, do alcance da autorizao social, relacionando-as. S assim torna-
se possvel apreciar o desempenho da polcia de forma consistente. Trata-
se, ento, de ir alm de Bittner. Trata-se de compreender os efeitos da
polcia na comunidade poltica que ela policia, resgatando as inter-relaes
entre o que a polcia faz e pode fazer, o que ela ou pode ser, luz do que
se espera e consente que ela seja e faa.
2.2.1. Uso pontencial e concreto da fora: a possibilidade de ao
policial
6
No contexto dos relacionamentos humanos, o uso de fora expressa
uma forma particular de produzir coero. Seus fins so os mesmos que
os de qualquer alternativa coercitiva: submeter vontades, alterando
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
239
atitudes e influenciando comportamentos de indivduos e grupos. O que a
distingue de todas as outras formas coativas so seus meios, os meios de
fora.
No h como compreender o uso de fora como um fenmeno
autnomo, que existe em si mesmo, algo exterior s relaes sociais e,
por isso, capaz de interromp-las ou substitu-las. O uso de fora um
instrumento a servio das formas de exerccio de poder, com tudo que
este tem de paixes, vontades e interesses. A alternativa do uso de fora
expressa um modo particular de interao social, to previsvel como
qualquer outro. Neste sentido, o uso de fora reflete as expectativas
sociais quanto sua possibilidade e conseqncia, conformando sua
experimentao antecipada como um fato possvel ou sua vivncia como
um ato manifesto. Isto revela a integralidade das expresses empricas do
uso (potencial e concreto) de fora. Permite compreender seus efeitos,
sobretudo onde a sua manifestao em ato no teve lugar, isto , onde a
apreciao de sua potencialidade foi suficiente para dobrar vontades. Este
efeito no menos uso de fora porque prescindiu da realizao em ato.
Ao contrrio, revela-se plenamente uso de fora ao produzir coero.
Com o exposto, esclarece-se o universo de resultados plausveis
da prxis policial em termos da utilidade da fora. O potencial de fora
explica os efeitos dissuasrios e, em alguma medida, preventivos da
presena da polcia, ou at da possibilidade desta presena. O concreto
de fora explica os efeitos repressivos e, em alguma medida, dissuasrios
da ao manifesta da polcia.
Os termos do exerccio autorizado do uso da fora configuram o rol
de alternativas tticas admissveis para a polcia numa dada comunidade
poltica (polity). , precisamente, a autorizao ou consentimento social,
traduzido em aderncia social, pactuao poltica e dispositivos legais,
que do o contedo das regras de enfrentamento sob as quais a polcia
executa o seu mandato. Isso to mais evidente e distintivo quanto mais
prximo se est da ao manifesta da polcia, onde a oportunidade do
concreto de fora se pe. Uma polcia pode estar autorizada ou no a
usar determinados armamentos ou tticas em funo das exigncias
colocadas pelas regras de enfrentamento. Estas podem exigir, modificar,
moderar ou proibir alternativas de uso de fora, dando conta das
representaes, expectativas e contextos sociais especficos de uma polity
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
240
em relao sua polcia. V-se, assim, como o uso de fora que a polcia
faz e pode fazer depende do que se espera e consente do que ela seja e
faa. Depende, enfim, da idia de polcia numa comunidade poltica.
2.2.2. A idia de polcia: a expectativa do mandato policial
No processo de fabricao simblica e material da ordem social, a
autorizao que conforma o mandato policial, emprestando contedos
especficos sua realizao, resulta do que uma comunidade poltica, de
modo mais ou menos tcito, espera, deseja e consinta que sua polcia seja
e faa em prol da sustentao da ordem social
7
. Isto o mesmo que
dizer, que o consentimento social que sustenta o lugar de polcia reflete
uma idia de polcia elaborada e negociada pelos diversos grupos sociais
que constituem uma dada sociedade policiada.
A Idia de Polcia pode ser compreendida como um conjunto diverso
de representaes e expectativas sociais acerca da polcia, seus papis e
funes na produo de controle social. Refere-se, assim, s percepes
sobre o exerccio da coero pelo uso (potencial e concreto, lembre-se)
de fora. Trata-se de um universo de significaes associadas a um tipo
particular de autoridade poltica as quais se encontram em permanente
construo, ao sabor das experimentaes e vivncias constitudas nas e
pelas prprias interaes entre policiais e demais atores sociais.
Na dimenso da prxis social, a idia de polcia retrata o modo
mesmo como as polcias esto e vo sendo inscritas no imaginrio social
de uma sociedade ao longo do tempo. Retrata as concepes e vivncias
de uma comunidade poltica sobre a prxis policial. Remete capacidade
da Polcia (The Police) cumprir o mandato policial, produzindo alternativas
pacficas de obedincia pelo uso da fora (policing stricto sensu), segundo
as regras sociais do jogo e sob o Imprio da Lei, de acordo com um
determinado conjunto de prioridades de governo (policy) fruto do processo
poltico (politics).
A idia de polcia articula-se, de forma sensvel, com os instrumentos
de controle e regulao da ordem social. Ela estimula, e at mesmo induz,
a busca pelos mecanismos comunitrios de auto-regulao, que seguem
sendo o recurso primeiro e mais importante a ser esgotado nas dinmicas
conflituosas. Isto se d porque as expectativas quanto ao mandato policial
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
241
e sua prxis orientam as ponderaes e escolhas dos atores sociais quanto
aos meios empregveis e suas conseqncias diante do fim pretendido
por cada um deles em seu convvio e no encaminhamento da soluo de
seus problemas. A existncia da polcia como uma alternativa de produo
de coero passvel de ser mobilizada por todos motiva mudanas nas
estratgias sociais de convivencialidade e na administrao de vontades
em conflito.
A Idia de Polcia engloba todos os possveis efeitos que a polcia
pode produzir em razo de sua existncia, da expectativa ou manifestao
de sua presena ou ao. Revela e articula os efeitos indutores sobre a
auto-regulao social: os efeitos preventivos quando a polcia no est
fisicamente presente, dissuasivos quando ela se faz presente sem agir, e
repressivos quando ela atua para frustrar aes que atentem contra a paz
social ou violem as leis. Seu alcance pode ser visualizado na seguinte
ilustrao (Figura 1):
Figura 1. Efeitos da polcia na ordem social
Os efeitos da existncia da polcia, da presena policial e da ao
policial propriamente dita dependem, se subordinam, aos instrumentos
de controle da ordem social que so estruturalmente anteriores ao
policial e conformam o contexto de sua prxis. Estes mecanismos de
regulao intergrupais e intragrupais, formais ou informais, diretos ou
indiretos, manifestos ou potenciais, expressam nveis diferenciados e
descontnuos de coero social, constituindo a infra-estrutura do exerccio
do mandato policial. a sua dinmica que conforma o campo de
possibilidades dos efeitos policiais, e no a prpria polcia. Isto qualifica,
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
242
uma vez mais, o carter intrinsecamente finito e provisrio das solues
policiais na construo da ordem social.
A idia de polcia, com tudo que ela significa em termos de
expectativas e vivncias relacionadas existncia da polcia e execuo
do seu mandato, media a aceitabilidade e a adeso s solues policiais,
determinando as formas do recurso fora para produzir obedincia.
Contextualiza os efeitos preventivos e dissuasrios da presena policial
pelo impacto do uso potencial de fora, situando a oportunidade dos
efeitos repressivos da ao policial pelo uso concreto de fora. A
pertinncia do uso concreto de fora um dos fatores que fortalece ou
fragiliza a autorizao social da polcia, reforando ou no a credibilidade
das solues policiais.
A idia de polcia tem a sua expresso mais aparente e instrumental
na credibilidade policial. A credibilidade policial pode ser compreendida como
um tipo de sntese funcional da idia de polcia, uma forma de apreenso do
consentimento social quanto ao exerccio autorizado do uso da fora no interior
de uma dada comunidade poltica, sob o imprio da lei.
Nas dinmicas de controle e auto-regulao social, a credibilidade
policial traduz as expectativas coletivas de que a polcia vir, se far
presente, naquelas situaes em que se deseja que a polcia apresente-se
como uma alternativa necessria, ofertando solues aceitveis.
Corresponde percepo de que a polcia capaz de cumprir o seu
mandato, respondendo em cada situao vivida e no conjunto de todas as
interaes com a sociedade, ao que polcia ou deve ser tanto quanto aos
por que e para que e como fazer polcia.
A credibilidade policial instrumentaliza a confiana e a adeso sociais
diante da perspectiva do quanto a polcia uma alternativa equnime e igualitria,
competente para construir solues diferenciadas e aceitveis em uma ampla
variedade de circunstncias, exteriores aos interesses particulares, porm
obedientes ao pacto social e s leis. Em cada soluo policial, tem-se ou no o
reforo da credibilidade policial, resultante do questionamento cotidiano do
mandato e prticas policiais pelos indivduos e grupos sociais. a credibilidade
policial que mais imediatamente considerada quando se chama ou no a
polcia, aceita-se ou no o que ela prope, acredita-se ou no no que ela faz,
diz que faz, informa ou sugere; quando se contempla a adoo ou no de
arranjos particulares de uso de fora.
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
243
Quando uma polcia desfruta de razovel credibilidade, passa a
operacionalizar o controle social com um grau de adeso tal que a
orientao policial tomada, e cada vez mais expressa, nos termos
presentes da pactuao social mais ampla. Neste contexto, a ao policial
apresenta uma elevada consonncia com os termos e requisitos do mandato
policial. Essa perspectiva tem lugar quando a polcia, de maneira
transparente, continuada e, sempre que necessrio, explcita, reconhece,
se constrange e adapta aos requisitos cambiantes de tal mandato. As regras
de enfrentamento, os procedimentos e as prticas policiais tornam-se
cada vez mais conhecidos, compartilhados e apreciados pelos indivduos
ou grupos. Isto, por sua vez, empresta crescente previsibilidade s aes
policiais, ampliando e reforando a adeso social s solues policiais.
Tem-se, com isso, uma maximizao do controle social da polcia.
Em contextos de significativa credibilidade policial, o questionamento das
aes policiais reveste-se de um carter pedaggico, resultante do acervo
de saberes partilhados entre polcia e sociedade. Isso instrui tanto os
agentes policiais quanto a comunidade sobre o que fundamenta e como se
operacionaliza uma soluo policial. Permite a vigncia de formas de
controle que se aproximam da responsabilizao plena das solues
policiais e da prestao de contas sobre como, e porqu, foram
produzidas. Estabelece-se, assim, um equilbrio sutil entre a polcia
obediente ao mandato policial e uma comunidade que consente em
obedecer sua polcia. Uma alta credibilidade policial significa que o pblico
reconhece sua polcia, e a polcia se reconhece no pblico.
Quando uma polcia desfruta de pouca credibilidade, seu papel
indutor no controle social esmaeceu a tal ponto que suas solues,
quaisquer que sejam, so recebidas com desconfiana antecipada ou
suspeita prvia. Estas solues so percebidas como alheias aos termos
presentes da pactuao social mais ampla, dissonantes em relao ao que
seja considerado aceitvel em seu contedo ou forma. Baixa credibilidade
amplia e recrudesce os nveis de resistncia ao policial,
comprometendo os efeitos indutores da polcia em termos de resultados
preventivos e dissuasrios, acabando por sobrelevar artificialmente as
solues repressivas diante de qualquer situao que ameace a paz social
ou o cumprimento das leis. Neste contexto, motiva-se a disseminao de
atitudes intolerantes, discriminatrias e provocativas dos indivduos em
relao polcia e da polcia em relao ao pblico.
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
244
Na medida em que a policia torna-se, e sente-se estrangeira aos
olhos de sua comunidade, passa a ser ameaada diante de qualquer
questionamento social e, ao mesmo tempo, percebida como uma ameaa
a esta comunidade. A perda de credibilidade policial corresponde,
tacitamente, a uma fragilizao da autorizao social, uma perda de
legitimidade da polcia para exercer o seu mandato. Uma polcia
desautorizada se v premida ao exerccio de uma conduta pautada
unicamente pela lei, arriscando-se a impor uma viso intolerante de ordem
que conflita com a ordem social propriamente dita.
Em contextos sociais de baixa credibilidade policial, aumenta-se o
risco do recurso fora reduzir-se sua dimenso concreta. Cria-se o
cenrio no qual uma polcia desautorizada usa de fora concreta com mais
freqncia e intensidade do que seria oportuno e apropriado. Isto por sua
vez aumenta ainda mais o descrdito e resistncia social, incitando mais o
uso concreto de fora.
importante assinalar que a rotinizao do uso inoportuno ou
inapropriado de fora evidencia que uma dada polcia tornou-se menos
capaz do exerccio do seu mandato, agregando custos e riscos.
Paradoxalmente, esta situao coloca uma demanda crescente sobre os
recursos policiais. A polcia tem que gastar mais tempo e esforo para
atuar em cada evento porque se confronta com resistncias prvias e
recrudescimentos. Como resultado, a polcia lida com um nmero menor
de eventos, por conta da imobilizao por longos perodos dos agentes
policiais em cada atendimento. Demora cada vez mais para atender
chamados e tende a declinar de atend-los, especialmente nos casos de
emergncia e nos perodos de alta demanda. Isso refora a perda de
credibilidade da polcia, na medida exata em que cham-la deixa de
produzir resultado.
Quando desconfiana e suspeita da polcia se transformam numa
recusa da soluo policial, chega-se a inviabilizar a presena da polcia em
determinados territrios, em certas comunidades, sobretudo aquelas
expostas a alto risco social, as assim chamadas reas degradadas. No
limite, a populao pode excluir deliberadamente as solues policiais como
uma alternativa aceitvel. Neste caso, no tem porque chamar mais a
polcia ou esperar por ela, podendo mesmo vir a resistir ativamente s
solues ou, at, presena policial. Qualquer alternativa de resoluo de
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
245
conflitos, violenta ou no, legal ou ilegal, passa a ser prefervel ao
envolvimento da polcia. Nestes casos, a polcia passa a ser percebida
como invasora, como fora de ocupao: ilegtima, ainda que possa estar
legalmente respaldada. Neste contexto, a polcia se v diante da terrvel
situao de ser sentida como um instrumento de opresso.
Se a credibilidade policial cai a tal ponto que se reduz to somente
credibilidade de agentes ou equipes policiais individuais, tem-se o
prenncio do colapso da polcia como o exerccio autorizado do uso da
fora sob o Imprio da Lei. A vspera do instante em que pode se perder a
expectativa pblica de que h uma polcia e que ela vir.
Quando a credibilidade policial se aproxima de tal ponto, pode ser
tarde demais. Exatamente quando a polcia necessitaria de toda a presteza
para poder recuperar sua credibilidade, quando ela se revela menos
capaz de agir. A reduo da autorizao social sua dimenso formal,
protocolar, de jure, removeu da polcia a capacidade de produzir a
totalidade de seus efeitos pela cristalizao de uma Idia de Polcia cujas
expectativas quanto ao mandato policial so inteiramente negativas. A
polcia passa ento a ser percebida como um mal, que nem mais se justifica
como necessrio, a menos da emergncia mais extrema que,
paradoxalmente, se torna mais freqente porque a soluo policial no
est mais disponvel como uma alternativa rotineira. Aqui, a polcia pode
viver a sua hora mais desesperada: chamada a lidar com um nmero
cada vez maior de demandas requisitando sua interveno. Isto inclui
chamadas que nunca teriam chegado polcia, a no ser pela perda da
credibilidade policial; chamadas nas quais a simples perspectiva da chegada
da polcia teria sido o bastante. Isto tambm inclui demandas por reforos
do efetivo policial independente de necessidade real, precisamente porque
a presena fsica, quando no mesmo a ao manifesta do uso de fora
pela polcia se tornou a nica alternativa restante para produzir algum
efeito. Mas tambm possvel que, muito antes que essa hora chegue, o
pblico j tenha abandonado a polcia como alternativa, e o apagar das
luzes de uma organizao policial seja marcada pelo fato de que ela no
mais chamada, e que quando ela se faz presente, confrontada ou ignorada.
Em todo o processo, num caso ou noutro, a comunidade poltica
ainda mantm uma Idia de Polcia, que diante da realidade do colapso da
credibilidade policial, preserva e alimenta um devir. Conquanto julgue que
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
246
uma polcia pode ser til e aceite os custos de sua reinstituio, pode
inaugurar, ou refundar, a organizao a quem confiar o mandato policial.
Uma vez que se compreenda como a Idia de Polcia conforma os
contornos e os contedos do que polcia capaz de produzir em termos
de efeitos sobre a ordem social, pode-se reapresentar as prticas policiais
em termos teoricamente consistentes. possvel identificar o que sejam
os resultados da polcia como expresso da articulao entre as
expectativas do mandato policial e as possibilidades da ao policial. Isto
exclui as outras destinaes que sejam dadas, ou atribudas, ou esperadas
de uma determinada polcia, uma vez que elas no pertencem ao lugar de
polcia stricto sensu. Neste sentido, as assim chamadas competncias
residuais de uma determinada polcia so atribuies ou papis adicionais,
variveis. Elas correspondem a expedientes administrativos ou funcionais
que se utilizam das organizaes policiais como poderiam se utilizar de
quaisquer outras organizaes de regulao social. O esquema abaixo
(Figura 2) d conta dos relacionamentos entre os efeitos preventivos,
dissuasrios e repressivos da polcia, reinterpretando-os em termos dos
resultados da existncia, presena e ao da polcia.
Figura 2. Resultados da ao policial
Tudo o que a polcia faz em termos de ao manifesta, com uso de
fora (potencial ou concreto), para interromper, reverter ou anular uma
ao recalcitrante
8
diante da paz social ou do cumprimento s leis
corresponde ao resultado geral de frustrao da ao, que compreende
os efeitos repressivos e, em alguma medida, dissuasrios da polcia. Quando
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
247
o uso de fora potencial, a simples presena, ou a perspectiva da presena,
policial suficiente para impedir, ou evitar, uma ao recalcitrante, ento
isto corresponde frustrao da oportunidade da ao, que compreende
os efeitos dissuasrios e, em alguma medida, preventivos da polcia.
A combinao da presena policial com arranjos situacionais, capazes
de eliminar ou restringir as prprias oportunidades de ao recalcitrante,
corresponde reduo antecipada de oportunidades de ao, que
compreende os efeitos preventivos e, de maneira mais ampla, os efeitos
indutores de auto-regulao social
9
. Os efeitos preventivos da polcia na
reduo de oportunidades de ao podem ser compreendidos como
efeitos associados, uma vez que se inscrevem em processos que se
estendem para alm da polcia. Ultrapassam o que pode ser atribudo ao
que ela faz ou pode fazer. Em termos amplos, eles dizem respeito s
dinmicas de auto-regulao social e aos arranjos situacionais que as
potencializam numa dada comunidade, e que envolvem uma variedade de
atores e possibilidades, inclusive a polcia. Mais especificamente, reportam-
se aos efeitos cumulativos de um conjunto de aes policiais (inclusive
dissuasrias e repressivas) e de iniciativas individuais e grupais, que se
beneficiam da, mas ultrapassam a presena policial ou sua expectativa,
modificando as condies materiais ou a predisposio de atores
realizao de aes recalcitrantes. Tal ordem de complexidade na produo
da preveno inviabiliza a atribuio de causalidade entre um dado
resultado de reduo de oportunidades de ao recalcitrante e uma dada
ao policial preventiva. Se por um lado, a polcia tem um papel importante
nas dinmicas de reduo de oportunidades, por outro, no possvel
isolar o que seja a sua contribuio em nenhum caso particular.
A forma como as expectativas e representaes sobre a polcia, a
Idia de Polcia que se associa da existncia da Polcia, perspectiva e ao
efeito cumulativo de suas aes, referencia, pauta, modifica e sustenta
comportamentos de indivduos e grupos sociais. Serve como um elemento
que media solues convivenciais em que um ou mais atores modifica
suas atitudes quando considera a perspectiva de que a polcia pode vir a
ser chamada, ou se fazer presente, alterando a dinmica de um determinado
contexto ou conflito de vontades. Essa ampla variedade de resultados,
que tem efeito na ausncia da polcia mas como decorrncia de sua
existncia corresponde induo a auto-regulao da ordem social. Neste
caso, ainda que seja a polcia que se encontra no centro deste processo,
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
248
no possvel isolar, e muitas vezes nem identificar, o processo pelo qual
se produz esse resultado.
Cada um destes resultados admite uma medida de superposio
em termos de sua caracterizao e causalidade. Pode-se identificar os
dois primeiros como resultados diferenciados da presena policial, na
frustrao da ao e de sua oportunidade. No entanto, esta identificao
se torna mais difcil medida em que se consideram os efeitos preventivos,
os resultados de reduo de oportunidade e a induo de auto-regulao.
Esse recorte inicial, que distingue os resultados em que a presena policial
certa, podendo ser isolada como produzindo uma soluo policial,
configura o alcance das mtricas consideradas a estes resultados.
3. CONCEITO DE DESEMPENHO: EFICCIA E COMPETNCIA
10
O conceito de desempenho corresponde ao reconhecimento de
que h dois aspectos a serem considerados: a situao ou resultado final e
a forma como se produziu esta situao ou resultado. Este ltimo tem
implcito o processo de planejamento, preparao e execuo que
conformam a ao policial, de maneira ampla, a forma como se utilizam
os recursos disponveis. Esta dualidade corresponde ao entendimento de
que no seria suficiente aferir o desempenho apenas pelos resultados
obtidos ou pela forma como foram produzidos. Este conceito de
desempenho capaz de lidar com esta dualidade, e nomeia como eficcia
a produo da situao final desejada, como proficincia a forma de obteno
desta situao, ou seja, a utilizao dos recursos policiais disponveis.
Da ser possvel identificar, em termos abstratos, quatro alternativas
para a caracterizao do desempenho policial. Os dois primeiros
correspondem ao melhor resultado possvel e ao pior resultado
possvel. Em termos absolutos,
(1) o melhor desempenho possvel corresponde
obteno do resultado desejado de acordo com o
estado-da-arte das formas de ao legal e legtima, sem
mortos ou feridos (baixas zero), sem efeitos colaterais
(danos materiais, por exemplo), com a submisso dos
recalcitrantes sem uso inadequado de fora, obtendo
o controle dos locais visados.
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
249
(2) o pior desempenho possvel corresponderia a no
obteno do resultado desejado, com formas de ao
ilegais e ilegtimas, com baixas de todos os
recalcitrantes, policiais e civis envolvidos, com extensos
efeitos colaterais, a no-submisso dos recalcitrantes
e sem que se obtenha o controle dos locais visados.
A estes se acrescentam ainda as situaes intermedirias, j nos
termos definidos acima,
(3) em que se tem eficcia, mas no proficincia.
(4) em que se tem proficincia, mas no eficcia.
Estes quatro pontos absolutos circunscrevem os termos para a
avaliao de desempenho policial, caracterizando-a como uma anlise
conjunta da eficcia e da proficincia, que permite a seguinte ilustrao
(Figura 3) dos resultados possveis de serem obtidos, onde os nmeros
indicam os extremos descritos e se identificam os quartis associados a
altas e baixas eficcias e proficincias.
Figura 3. Eficcia e proficincia
Uma abordagem simplista para a avaliao do desempenho seria a
de se tomar uma razo direta entre uma medida de eficcia e uma medida
de proficincia. Mas esta abordagem insuficiente, na medida em que
torna impossvel comparar o desempenho em duas aes distintas ou
mesmo em aes similares. Isto porque no leva em conta a realidade do
trabalho policial, ignorando os elementos que emprestam singularidade
aos casos reais. Essa simplificao oculta as condies de contorno da
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
250
ao policial: as exigncias legais que circunscrevem o mandato policial, as
consideraes polticas que orientam e qualificam a misso atribuda e a
situao final desejada, as consideraes sociais, logsticas e, eventualmente,
estratgicas, que caracterizam o cenrio e o ambiente da ao; a dinmica
interativa entre os atores envolvidos, especialmente entre recalcitrantes
e policiais; e quaisquer externalidades.
3.1. Eficcia
Eficcia no sinnimo de vitria. Depende da considerao dos
resultados desejados e da forma como estes resultados so obtidos. O
entendimento corriqueiro de que ser eficaz vencer reflete uma viso
marcial, guerreira, que sabota o lugar de polcia pela destituio da natureza
poltica de sua ao e, por sua vez, da sua instrumentalidade. A polcia no
luta, no luta por lutar, no luta para vencer. Ela usa de fora para produzir
obedincia sob consentimento social. Isto significa que os resultados da
ao policial s fazem sentido quando tomados como meios para um
determinado fim, isto , para a sustentao autorizada da paz social, da
ordem pblica e das leis. Esta a nica perspectiva que pode permitir
compreender de que maneira a polcia pode ser eficaz, ponderando tanto
o resultado que se deseja obter quanto as regras de enfrentamento policiais,
cujo contedo expressa o que est pactuado como legal, politicamente
admissvel e consentido pelos cidados.
A definio de eficcia tem que dar conta de dois aspectos: a misso,
que corresponde expresso explcita do resultado desejado no
empreendimento de uma dada ao policial, ambicionando aproximar o
objetivo poltico mais amplo; e o conjunto de resultados colaterais ou
associados maneira como se conduziu a ao.
3.2. Proficincia
Proficincia no sinnimo de capacitao tcnica. Depende da
considerao da prxis policial, luz de seu estado-das-prticas ou mesmo
de seu estado-da-arte. O entendimento usual de que proficincia o
atingimento de um determinado nvel de desempenho no treinamento,
seja no uso de equipamentos ou na aderncia a uma doutrina, reflete uma
viso fordista, burocrtica, que oculta a discricionaridade policial,
desqualificando o processo decisrio e a prpria ao policial. Por exemplo,
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
251
reduzir a tarefa policial a atirar bem arrisca perder de vista quando
atirar oportuno, quando atirar bem apropriado. A polcia no uma
linha de produo, em que cada policial faz melhor quando obedece
mecanicamente frao de trabalho que lhe cabe num esquema abstrato,
suposto inteiramente previsvel em termos de recursos disponveis e do
inventrio de solues imediatamente aplicveis. Ao contrrio, a ao
policial depende do juzo e talento dos agentes policiais, de sua tomada de
deciso rumo adaptao virtuosa de seus saberes, habilidades e recursos
diante da realidade, caso a caso. Esta a nica perspectiva que pode
permitir compreender de que maneira a polcia pode ser proficiente, ao
considerar como cada ao policial conjuga recursos disponveis e as
decises de seu uso oportuno e apropriado num determinado caso, para
um determinado fim, isto , para ser eficaz.
Independentemente de sua aderncia ao conjunto de prticas
conhecidas, o estado-das-prticas, ou mesmo melhor prtica, best
practice, conhecida, o estado-da-arte, a proficincia no pode obedecer
sua prpria lgica. Ela s faz sentido no contexto da busca de um
determinado resultado, isto , como instrumento da busca por eficcia.
Com esta ressalva, ento a definio de proficincia tem que dar conta da
apreciao da qualidade da tomada de deciso e execuo da ao luz de
um determinado critrio de aderncia, seja ao estado-das-prticas, seja ao
estado-da-arte.
4. MTRICAS E PADRES DE MEDIDA DE DESEMPENHO
POLICIAL
Para medir alguma coisa, preciso antes saber por que uma
determinada medida til para um determinado fim, estabelecendo o que
se quer medir. Sabendo o que se quer medir, pode-se ento considerar
como medir.
4.1. Mtricas e indicadores
11
O porque e o que medir so evidentes quando se trata da medida
de grandezas fsicas elementares. O espao, por exemplo, uma vivncia
compartilhada por todos os seres humanos. Assim, o porque medir de
fcil compreenso. Todos sabem que para ir daqui ali preciso atravessar
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
252
um certo trecho do espao. Saber o quanto de espao separa c de l
pode ter alguma utilidade, e isto permite uma apreenso da distncia e a
sua definio como o menor trajeto que vai de um ponto a outro,
descartando volteios e desvios. Isto permite estabelecer o conceito de
extenso como um padro de medida. Pode-se medir a extenso de
diversas maneiras, seja em linha reta, seja ao longo de um caminho. Uma
vez que se tenha estabelecido um padro de medida, necessrio
expressar sua grandeza, o que leva a que se escolha uma unidade de medida.
Uma unidade de medida natural o passo. Mas o passo varia de
pessoa para pessoa, de ritmo de marcha para ritmo de marcha: uma
unidade de medida to varivel, idiossincrtica que compromete os
elementos de regularidade e preciso que permitem sistematizar e
comparar realidades. Para se obter uma medida mais constante e til,
razovel eleger uma unidade comum e invariante, universal. No caso do
Sistema Internacional de Medidas, tem-se o metro.
As noes geomtricas de extenso, rea e volume expressam
entendimentos conceituais: o espao que separa dois pontos, a superfcie
de um determinado permetro, o contedo de um determinado recipiente.
Extenso, rea, volume so padres de medida qualitativamente distintos
e conceitualmente precisos. A extenso trata do menor caminho entre
dois pontos, no importa em que direo; a rea trata da superfcie de um
permetro, no importa o seu desenho; e o volume trata do contedo de
um recipiente, no importa a sua forma. Este entendimento do espao
como tridimensional afirma que rea pode ser expressa como o quadrado
das dimenses que a delimitam (medidas como extenses) e que volume
pode ser expresso pelo cubo das dimenses que o circunscrevem
(tambm medidas como extenses). Este relacionamento no auto-
evidente, depende de uma teoria geomtrica que o demonstre, mesmo
que as qualidades que distinguem extenso, rea e volume sejam evidentes.
Ainda que seja possvel estimar extenses, reas e volumes, difcil
medir diretamente todas as distncias, superfcies e contedos (de
recipientes). possvel mensurar um caminho com um basto graduado,
superpor quadrados de uma rea conhecida superfcie que se quer medir
ou fracionar um volume que se deseja conhecer em pequenos volumes
conhecidos. Mas mais simples calcular a extenso, a rea ou o volume a
partir do conhecimento das dimenses de seus contornos, admitindo
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
253
uma margem de erro conhecida. Por outro lado, s o entendimento que
nasce do clculo resolve problemas de erros intuitivos, como aqueles
com que as crianas so familiarizadas: o mesmo volume de gua num
copo alto, numa tigela, ou numa bandeja. a partir da compreenso das
bases conceituais que explicam porque medir alguma coisa, estabelecendo
o que medir, que se pode compreender que o como medir depende do
desdobramento de entendimentos conceituais. a partir desses que se
estabelecem os padres de medida da extenso, rea e volume, para os
quais se pode ento eleger (de fato, arbitrar) unidades de medida teis e
adotar formas prticas de mensurao
12
.
Com este prembulo, pode-se compreender mtrica como o arranjo
conceitual que explica de maneira teoricamente consistente o que relevante
medir. A partir da elaborao de uma mtrica que se torna possvel
estabelecer padres de medida e, a partir deles, unidades de medida para
mensurar uma determinada qualidade. Essa medida pode ser quantitativa
ou qualitativa. No exemplo apresentado, a posse de uma mtrica do espao
permite o estabelecimento de padres de medida quantitativos: a medida
da distncia entre duas cidades, da superfcie de um terreno ou do
contedo de uma caixa dgua. A mtrica do espao compreende a utilizao
das idias geomtricas para formular padres de medida (quantitativa) da
extenso, da rea e do volume afirmando-os como necessrios e
suficientes, integrando-os pela adoo de unidades de medida consistentes
do m, m
2
e m
3
.
Uma vez que se estabeleam mtricas, padres e unidades de
medida, possvel medir. Ento pode se buscar compreender o significado
das medidas de diversas maneiras. Neste processo, que combina anlise
e criatividade, desdobram-se uma ou mais mtricas de maneira a produzir
resultados analticos ou descritivos, elaborando indicadores para
determinados fins. Esse um recurso necessrio e til em funo dos
limites da cognio humana.
Por exemplo, qualquer usurio de computador experimenta falhas
no funcionamento um determinado software. Estas resultam de
impropriedades de programao ou erros de processamento. Em diversos
casos, como em sistemas de monitoramento mdico ou processamento
qumico, importante saber o quo confivel um determinado software,
porque uma falha pode ter conseqncias funestas ou causar grandes
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
254
prejuzos. Uma mtrica da qualidade confiabilidade associa a interrupo
de funcionamento do software, cujo padro de medida qualitativo, a
falha, com o controle do tempo, cujo padro de medida quantitativo,
medido em unidades de tempo (horas), mensurando o nmero de falhas
por unidade de tempo.
A escolha de uma determinada unidade de medida para mensurar a
confiabilidade com essa mtrica depende de quem deseja mensurar e para
que. Um hospital pode considerar que uma mtrica como a de
confiabilidade o tempo mdio entre falhas (Mean Time Between Failures
- MTBF), porque o que lhe importante a ocorrncia, ou no, da falha.
Para produzir uma medida da confiabilidade de software, pode-se operar
o software por 2100 horas, acumulando-se o nmero de falhas a cada 300
horas. Nas primeiras 300 horas registram-se duas falhas, o que estabelece
um MTBF de 150 horas. Nas horas seguintes, cada levantamento de 300
horas produz respectivamente duas, uma, uma, uma, zero e zero falhas.
Com o uso do software ao longo do tempo, pode-se ento elaborar um
registro que revela que o MTBF do software variou (150, 300, 300, 300,
e mais de 600, j que no houve falha em duas perodos de 300 horas
sucessivos). Assim, o resultado da medida seria que MTBF mdio do
software de 300 horas.
Um indicador corresponde escolha do resultado de uma ou mais
mtricas para ampliar o entendimento. No exemplo do software, o indicador
falhas acumuladas ao longo do tempo em perodos de medida sugere
algo que poderia se perder diante da medida MTBF mdio = 300 horas.
Ele indica que quanto mais tempo se usa o software, mais confivel ele se
torna. Essa capacidade de iluminar algo que poderia passar desapercebido
a grande vantagem de se utilizar indicadores. Embora, num senso estrito,
eles no agreguem mais informao sobre a realidade, podem vir a
reapresent-la de diversas maneiras, facilitando a cognio de aspectos da
realidade ou produzindo insights
13
.
A capacidade de qualquer indicador ampliar o entendimento ou
produzir insights vlidos depende da robustez das mtricas adotadas. Estas,
a seu turno, dependem da qualidade conceitual de seus fundamentos. S
mtricas conceitualmente robustas permitem identificar padres de
medida consistentes com o que se quer medir, possibilitando escolher
unidades de medida compatveis com o que se pretende medir e formas
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
255
viveis de como se medir (e produzir medidas). Esse percurso pode ser
visualizado pelo seguinte esquema:
Figura 4. De mtricas a indicadores
O que se segue corresponde, como indicado na parte hachurada
da figura acima, elaborao de mtricas e padres de medida
conceitualmente robustos. Eles associam a teorizao sobre a polcia
com a apreciao conceitual do desempenho em termos de eficcia e
proficincia, apresentados anteriormente. Circunscrevem o que se quer
medir pela explicitao do porque sua mensurao pertinente para a
avaliao do desempenho policial.
O estgio atual dos estudos policiais ainda no permite a elaborao
de mtricas capazes de mensurar o conjunto dos resultados do trabalho
policial anunciados em nossa construo terica, em termos das
expectativas do Mandato Policial, dos efeitos da presena policial e
da possibilidade da ao policial. Este texto corresponde expresso
de uma agenda de pesquisa em desenvolvimento, e se limita
considerao de mtricas e padres de medida capazes de mensurar o
que se apresentou mais acima como a frustrao da oportunidade da
ao e a frustrao da ao.
4.2. Mtrica e padro de medida da eficcia
Estabelecer os termos de uma mtrica para eficcia corresponde
ao desdobramento dos aspectos da (i) misso e dos (ii) resultados colaterais
e associados em termos de uma determinada forma de mensurao. Como
qualquer mensurao, ela se apia na adoo arbitrria de um determinado
padro de medida, qualitativo ou quantitativo, que exige a traduo das
dimenses do conceito de eficcia em definies operacionais.
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
256
(i) Misso policial. A misso policial (M) definida como
a expresso da situao final desejada pela autoridade
competente, luz de prioridades polticas, quando
determina a realizao de uma ao policial. Em si
mesma, uma mi sso admi te graus vari ados de
expectativas, contedos e detalhamento, implcitos
ou explcitos. Por isso til trat-la em termos
qualitativos, aferindo exclusivamente o atendimento
de seu contedo explcito, na produo ou no do
resultado desejado. Assim, a mtrica da misso policial
si mpl esmente: o seu cumpri mento ou no-
cumprimento
14
.
(ii) Resultados associados e colaterais. Os resultados
associados e colaterais correspondem apreciao da
forma pela qual a misso foi cumprida. Em si mesma,
admitiria todo o universo de eventos, resultados e
conseqncias, intencionais ou acidentais, durante e
depois da ao policial. Dada a sua amplitude,
necessrio trat-los de forma analtica, recortando o
processo de produo e o resultado da ao, a partir de
conjuntos de variveis afins, potencialmente presentes
em qualquer ao policial. Estes conjuntos so
agrupados ao redor das variveis recalcitrante (R),
terreno (T), tempo (T), agentes policiais (P) e o vasto
universo de cautelas (C) polticas, sociais e logsticas
que conformam as regras de enfrentamento da ao
policial. Reconhece-se que estes conjuntos so
heterogneos e agrupam variveis multidimensionais
e descontnuas. Por isso, til combinar critrios
qualitativos e quantitativos de mensurao, cujas
mtricas no existem por si mesmas como ocorre na
misso policial. As mtricas relacionadas a resultados
associados e colaterais refletem prioridades polticas
para a ao policial, e se modificam para dar conta
destas mesmas prioridades.
Cabe ressaltar que, quando um determinado resultado associado
ou colateral parte explcita da situao final desejada pela autoridade
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
257
competente, ento ele faz parte da misso policial, e sua mtrica passa
ser puramente qualitativa, de cumprimento ou no-cumprimento. Com
estes elementos, pode-se ento expressar a definio operacional de
eficcia como a combinao da misso atribuda e dos seus resultados
da seguinte forma (Figura 5):
Eficcia = Misso (M) + [Agente de desobedincia (R) +
Terreno (T) Tempo (T) + Agentes Policiais (P) + Cautelas (C)]
Figura 5. Eficcia policial
Isso admite a sua expresso pelo seguinte grafismo:
Eficcia = M+RT
2
PC
Esse grafismo serve como ponto de partida ilustrativo para uma
anlise de sensibilidade das variveis, e, portanto, do contorno de suas
mtricas, sustentando a formulao de uma tipologia exaustiva de todas
as composi es de efi cci a poss vei s em termos de resul tados
desejados e associados. Esta tipologia produz composies de eficcia
que no so compatveis com a atividade policial. Da ser necessrio
restringir o campo das composies de eficcia quelas que so
pertinentes realidade policial. Isto, a seu turno, corresponde
priorizao relativa de determinadas variveis na composio de eficcia
(RT
2
PC); novamente, desde que no estejam presentes (quando ento
seriam, por definio, explcitos) na misso policial (M).
Cada um dos resultados associados e colaterais pode, ou no,
ser prioritrio na ao policial. No se trata de maximizar ou minimizar
a relevncia ou a presena de um determinado resultado associado ou
col ateral em si mesmo, mas si m reconhecer que di f erentes
preocupaes polticas podem determinar a importncia relativa de
um resultado sobre os demais. A definio operacional de eficcia
incorpora a importncia relativa das variveis, admitindo dois nveis
de priorizao poltica para resultados associados ou colaterais: se
so prioritrios, aparecem grafados em MAISCULAS, ou se no
so prioritrios, aparecem grafados em minsculas, como indicado
na tabela a seguir.
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
258
importante assinalar que a misso policial, por definio, sempre
prioritria e, portanto, sempre grafada em maisculas e representada por
(M). Isto permite construir uma lista de todas as composies de eficcia,
ponderando as diferentes prioridades para cada uma das variveis (RT
2
PC),
Prioridade Poltica
Priorizados
R
T
T
P
C
Resultados
( quanto a..)
Recalcitrante
Terreno
Tempo
Agentes Policiais
Cautelas
No priorizados
r
t
t
p
c
produzindo um universo de 32 tipos lgicos expresso na tabela a seguir.
Nmero de Resultados Priorizados
5
RTTPC
4
RTTPc
RTTpC
RTtPC
RtTPC
rTTPC
3
RTTpc
RTtPc
RTtpC
RtTPc
RtTpC
RttPC
rTTPc
rTtPC
rTTpC
rtTPC
2
RTtpc
RtTpc
RttPc
RttpC
rTTpc
rTtPc
rTtpC
rtTPc
rtTpC
rttPC
1
Rttpc
rTtpc
rtTpc
rttPc
rttpC
0
rttpc
Estas 32 composies de eficcia correspondem a todos os arranjos
possveis de priorizao de variveis, mapeando todas as possibilidades de
resultados associados ou colaterais. Aplica-se, pois, a qualquer situao em
que o uso de fora seja considerado, seja ele compatvel ou no com o
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
259
mandato policial. J as quatro composies assinaladas correspondem
quelas que dizem respeito realidade policial, cuja caracterizao
apresentada a seguir.
4.2.1. Composies de eficcia policial
Quando se considera a prioridade relativa das variveis que descrevem
resultados associados e colaterais, constata-se que o universo de 32
composies de eficcia no se aplica de maneira integral s aes policiais.
Na composio de eficcia policial, as cautelas (C) so sempre
prioritrias e so, usualmente, parte das regras de enfrentamento policiais.
Como visto acima, regras de enfrentamento so as normas que exigem,
restringem, modificam ou probem determinadas alternativas na ao
policial, em funo das provises legais, juzos polticos, dinmicas sociais,
consideraes logsticas ou mesmo estratgicas. So estes elementos de
contorno que delimitam e contextualizam a ao de polcia, uma vez que
emprestam especificidade ao mandato policial em cada situao concreta.
Ao se reconhecer que as cautelas so sempre prioritrias, tem-se uma
reduo das composies de eficcia potencialmente vlidas para a realidade
policial, cujo escopo passa a corresponder aos 16 tipos lgicos onde (C)
aparece grafado em maisculo.
A preservao dos agentes Policiais (P) tambm sempre prioritria
na ao policial. O sacrifcio deliberado de policiais no uma alternativa
poltica aberta aos planejadores e executores de aes policiais. Ao
contrrio: no nem lgico, nem razovel, nem tolervel que o cuidado
para com as vidas dos policiais seja excludo das formas como se planeja
ou executa uma ao policial. No lgico, porque a indiferena quanto
vitimizao policial contraria a prpria razo de ser da polcia como
instrumento de proteo contra riscos e perigos que ameacem o pblico.
No razovel, porque uma dvida quanto prioridade da preservao
dos policiais sabota a coeso e compromete a qualidade do servio policial,
ampliando nveis de incerteza, risco e perigo tanto para policiais quanto
para o pblico. No tolervel porque a vida e a sade so direitos
inalienveis de todos os cidados, entre estes os policiais. Assim, ainda
que policiais possam, eventualmente, estarem expostos a situaes de
risco e perigo, s se pode admitir composies de eficcia policial que
sade e segurana ocupacionais dos agentes policiais (P) sejam prioritrias.
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
260
Com i sso tem-se uma reduo das composi es de efi cci a
potencialmente vlidas para a realidade policial, cujo escopo passa a
corresponder a oito tipos lgicos onde as variveis cautelas (C) e policiais
(P) aparecem grafados em maisculo.
O tempo (T) de durao numa ao policial sempre prioritrio.
A presteza um atributo indispensvel da ao policial. A natureza mesma
dos problemas nos quais a polcia chamada a intervir demanda sempre
alguma medida de urgncia em seu encaminhamento e soluo por
envolverem nveis diferenciados, objetivos e subjetivos, de risco e
perigo. A temporalidade da polcia marcada pelas expectativas sociais
de que ela esteja disponvel, responda quando acionada e d conta da
situao quando se fizer presente. Tais representaes dizem respeito
capacidade da polcia cumprir o seu mandato e, com isso, sustentar a
idia de polcia. A ao policial, a seu turno, admite uma repartio quanto
temporalidade de suas atividades, em termos da reduo antecipada
de oportunidades, da frustrao de oportunidades ou de aes que
desafiem a paz social, a vigncia das leis ou que demandem o uso da
fora como ferramenta da produo pacfica de obedincia. So esses
elementos que fazem com que a polcia seja um recurso sempre
disponvel e integralmente empenhado em cada momento.
Cada ao policial pode durar mais ou menos tempo. Mas cada
ao tem que ser resolvida satisfatoriamente com presteza, para que a
polcia possa se fazer disponvel antes, durante ou depois de sua ao,
ou para que ela possa agir em outra parte. Por sua prpria natureza, a
polcia um recurso escasso j que os eventos sobre os quais pode vir
a ser chamada a atuar podem ser simultneos, ou descontnuos e
dispersos tanto no espao quanto no tempo. Em razo disso, qualquer
composio de eficcia policial tem que considerar o atendimento da
presteza da ao policial, priorizando a varivel tempo (T). Com isso
tem-se uma reduo das composies de eficcia potencialmente vlidas
para a realidade policial, cujo escopo passa a corresponder a quatro
tipos lgicos onde as variveis cautelas (C), policiais (P) e tempo (T)
aparecem grafados em maisculo.
A esta altura cabe relembrar o limite das mtricas apresentadas
neste artigo. O conjunto das mtricas aqui proposto reconhece as
diferentes temporalidades da polcia e seus efeitos. Contudo, seu alcance
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
261
atual est restrito queles resultados em que se pode estabelecer, de
forma mais rigorosa, uma relao de causalidade entre a presena ou
ao policial e a frustrao de oportunidades ou aes recalcitrantes. J
em relao reduo de oportunidades de aes recalcitrantes e induo
de auto-regulao social no tempo, os resultados produzidos pela
presena ou ao policial no podem ser facilmente isolados, uma vez
que esto dissolvidos nos ou mediados pelos efeitos produzidos pelas
aes de outros atores sociais que constituem as redes primrias de
controle e proteo social. Aqui os efeitos produzidos pela polcia se
combinam e, em boa medida, se confundem com as mais diversas prticas
de regulao social, o que exigiria trabalhos que considerassem como
os mais diferentes atores sociais contribuem para a sustentao da ordem
pblica e sua interao com a polcia
15
. A apresentao terica realizada
anteriormente identificou e relacionou estes fenmenos evidenciando o
potencial de se avanar rumo a constituio de novos conjuntos de
mtricas que ultrapassam os limites deste artigo.
No poss vel real i zar a mesma reduo do escopo de
composies de eficcia feitas para as variveis anteriores no caso da
priorizao ou no do terreno (T) e do recalcitrante (R). O controle do
lugar em que se desenvolve a ao policial admite uma ampla variao
em termos de prioridade poltica. Isto vai desde a necessidade de
controle total do terreno como parte da misso policial, passando pelo
isolamento provisrio exclusivamente durante uma ao policial, at uma
relativa indiferena quanto a situao e controle do lugar. A situao final
do recalcitrante tambm admite variao de prioridade: vai desde uma
situao em que a deteno de um recalcitrante a misso policial,
passando por aquela em que o controle do recalcitrante oportuno ou
temporrio, at uma relativa indiferena quanto ao controle do
recalcitrante ao fim da ou mesmo durante a ao policial. Note-se que o
atendimento s normas de enfrentamento policial incluem as salvaguardas
relativas a incolumidade de todos os envolvidos na ao policial. A
situao final dos envolvidos contemplada em termos de cautelas (C),
que so sempre prioritrias em aes policiais
16
.
Diante do exposto, chega-se aos quatro tipos de composio de
eficcia policial, que refletem diferentes prioridades relativas ao
recalcitrante (R ou r) e ao terreno (T ou t), grafadas em maiscula e
minscula, conforme se v na tabela a seguir.
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
262
4.2.2. Padres de medida de eficcia policial
A apreciao da mtrica adequada para a misso policial permitiu
identificar um padro de medida qualitativo, de sucesso ou fracasso,
correspondente ao cumprimento ou no cumprimento. A identificao
das composies de eficcia policial permitiu identificar os padres de medida
pelos quais mensurar os resultados associados e colaterais da ao policial
em funo das suas prioridades polticas. Tem-se com isso cinco
possibilidades de padro de medida, que do conta da mensurao da
eficcia de toda e qualquer ao policial relacionadas com a frustrao da
oportunidade ou da ao recalcitrante.
Em sintonia com o que se encontra exposto nas bases conceituais
de desempenho, trata-se agora de apreciar as formas pelas quais se pode
estabelecer o que deve ser medido em termos da proficincia policial.
4.3. Mtrica e padres de medida de competncia policial
Tal como j foi apresentado, a proficincia avalia a qualidade do
planejamento e execuo de aes policiais, que se traduz no uso dos
Prioridade de Resultados
Recalcitrante
R
R
r
r
Terreno
T
t
T
t
Tempo
Policiais
Cautelas
TPC
Detalhamento
Todas as variveis so prioritrias para a
eficcia da ao policial.
A situao final de controle do recalcitrante
prioritria, mas o controle do lugar onde se d
a ao no prioritrio para a eficcia da ao
policial.
O controle do lugar onde se d a ao
prioritrio, mas a situao final de controle do
recalcitrante no prioritria para a eficcia
da ao policial.
Nem a si tuao fi nal de control e do
recalcitrante nem o controle do lugar so
prioritrios para a eficcia da ao policial.
recursos policiais disponveis para a produo de eficcia. A mtrica da
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
263
proficincia um agregado, que tem tantos componentes quantos os tipos
de recursos policiais disponveis para as aes de frustrao da
oportunidade ou da ao recalcitrante. Os recursos policiais so tambm
multidimensionais e variados, sendo til agrup-los em conjuntos de
recursos afins, presentes em qualquer ao policial. Estes conjuntos
correspondem ao suporte e articulao organizacionais, aos equipamentos
e materiais, ao acervo de procedimentos, capacitao de indivduos e
equipes, capacidade decisria e competncia policial orientados pela
busca de eficcia na ao.
Cada um destes conjuntos admite um breve descritivo. Por suporte
e articulao organizacionais se compreende tudo o que a organizao
policial pode prover a indivduos ou equipes policiais, incluindo a a
distribuio do efetivo policial no espao e no tempo. O conjunto de
equipamentos e materiais inclui desde o fardamento, armamento e munio
at o suprimento de ataduras no kit de primeiros socorros, passando
pelos instrumentos de comunicao, de proteo pessoal, ou o talonrio
de multas. O acervo de procedimentos reporta-se ao conjunto de
condutas de ao, que inclui a aplicao das regras de enfrentamento em
diversas circunstncias particulares, e espelha o saber policial construdo
pela experincia coletiva no planejamento e execuo da ao policial. A
capacitao de indivduos e equipes refere-se ao resultado dos processos
educacionais que se expressa no preparo para a ao policial. A capacidade
decisria corresponde s habilidades discricionrias, de decidir cursos
de ao e comandar indivduos ou equipes policiais. A competncia policial
remete aos diferentes perfis dos profissionais de polcia envolvidos na
ao. Note-se que estes conjuntos de recursos no so nem equivalentes,
nem homogneos em uma determinada organizao policial. Eles so
descontnuos no que se refere sua distribuio e usos no tempo e no
espao. Isto significa que em uma mesma organizao podem co-existir
diferente disponibilidades, e distintas qualidades de uso, de cada conjunto
de recursos. Por exemplo, possvel que todos os agentes policiais
tenham uma arma de fogo, mas nem todos estejam capacitados ou tenham
competncia policial no seu uso.
Exatamente porque a proficincia busca mensurar a qualidade do
uso de recursos policiais disponveis, a definio de suas mtricas depende
de uma referncia externa prpria ao policial, que pode ser a do estado-
das-prticas ou do estado-da-arte no uso de cada conjunto de recursos
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
264
policiais. O estado-das-prticas consiste na best practice (melhor prtica)
alcanada por uma determinada organizao policial, ou por um
determinado grupo de organizaes policiais. J o estado-da-arte consiste
na best practice conhecida pelas organizaes policiais, e tende a caminhar
na direo do que seja o limite mximo do que possvel fazer. Em qualquer
organizao policial pode-se combinar componentes de proficincia cujos
padres de medida so ora os do estado-das-prticas, ora os do estado-
da-arte. possvel que as armas de fogo disponveis aos policiais se
aproximem ou coincidam com o estado-da-arte dos armamentos,
enquanto que a capacitao ou competncia policial para o seu uso est
distante do estado-das-prticas, sendo um atributo de poucos. V-se que
os componentes da proficincia dependem dos graus de atualidade
profissional de uma organizao policial em relao aos recursos de que
Figura 6. Competncia policial
Uma vez que a proficincia policial um meio para a produo da
eficcia, seja porque restringe, seja porque possibilita determinadas
alternativas de ao pela disponibilidade ou qualidade do uso de recursos,
torna-se possvel circunscrever os termos da proficincia tima como
referncia geral para a conformao de mtricas.Trata-se de um
desdobramento indispensvel para o entendimento pleno dos resultados
produzidos pela presena policial, iluminando sobretudo aquelas situaes
aparentemente paradoxais em que a polcia eficaz sem agir. Tais situaes,
to cotidianas, costumam ser interpretadas como um desafio mensurao,
uma vez que diriam respeito a uma espcie de no-fato, de no-
dispe e da forma como os utiliza.
Isso admite a representao da proficincia policial pelo seguinte
esquema:
acontecimento, pela suposta ausncia de uso de fora.
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
265
4.3.1. A Proficincia policial tima
O reconhecimento da existncia e a apreciao do que seja a
proficincia tima explica, e permite mensurar, o resultado das situaes
em que a simples presena policial revela-se eficaz. Em outras palavras,
ela descreve um uso de recursos policiais capaz de produzir obedincia,
frustrando oportunidades ou aes recalcitrantes, to-somente pelo uso
potencial de fora. Nos casos de proficincia tima tem-se a alterao de
atitudes dos recalcitrantes em razo de suas expectativas quanto a prpria
possibilidade de ao policial. Os recursos disponveis indicam uma tal
ordem de assimetria que conduz ao abandono de qualquer forma de
resistncia diante da polcia. Nestes eventos, o uso concreto de fora no
teve lugar. Diante da perspectiva ou iminncia do uso de fora, o seu
potencial foi suficiente para produzir submisso.
importante assinalar que a oportunidade de se obter uma
proficincia tima depende tanto da disposio do recalcitrante em
reconhecer a assimetria com a qual se confronta, quanto da capacidade
da polcia de anunci-la. A proficincia tima explicita um jogo de
expectativas entrecruzadas que pode admitir alguma medida de
manipulao, sobretudo por parte da polcia. H espao para o blefe policial
pelo anncio de recursos superiores aos disponveis. H espao para a
teatralidade de seus recursos mais proficientes, buscando os benefcios
de um efeito-demonstrao. H ainda espao para o impacto da fama ou
reputao de uma determinada equipe ou liderana. As possibilidades de
manipulao de expectativas de parte do recalcitrante so mais limitadas,
mas tendem ser mais concretas, girando ao redor do agravamento das
circunstncias, ou de sua simulao. H espao para atos ou ameaas que
complexifiquem a ao policial, demandando mais proficincia de parte
da polcia para seguir sendo eficaz.
A incapacidade ou falta de disposio do recalcitrante em
reconhecer a assimetria com que se confronta pode frustrar a ocorrncia
de um resultado que revelaria uma proficincia tima. Se no se tratou de
um blefe ou de uma demonstrao policial, ento a assimetria em favor da
polcia ir quase certamente produzir um resultado eficaz. Mas a
proficincia deste resultado j no ser tima, porque ela falhou em
produzir resultado to somente pelo seu potencial. Por outro lado, a
incapacidade ou recusa dos policiais em reconhecer as possibilidades do
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
266
uso potencial de fora pode levar ao seu uso concreto, com tudo que isso
se arrisca em termos de externalidades, quando ele simplesmente
suprfluo. Isto se torna ainda mais grave quando a prpria organizao
policial tem dificuldades de compreender e avaliar os efeitos da presena
policial e do uso de fora potencial, o que estimula o uso concreto de
fora de forma equivocada, comprometendo a proficincia policial e, por
sua vez, a eficcia.
com estas consideraes em mente que se pode afirmar a
proficincia tima como um extremo lgico que substantivamente real,
e que pauta todas as demais medidas de proficincia. O fato de que parte
expressiva das oportunidades ou aes recalcitrantes so frustradas pelo
uso potencial de fora clarifica e explica o que de fato o efeito dissuasrio
da presena policial, desmistificando-o e operacionalizando-o. Revela a
fragilidade do entendimento corrente da dissuaso policial como um
resultado no s independente do que sejam os recursos disponveis e
das formas de seu uso, como tambm inferior, que corresponderia, nesta
leitura simplista, a uma resposta subalterna diante de uma falha das aes
de preveno.
A proficincia tima refora a concreo e a viabilidade da presteza
policial. Quanto mais situaes em que a polcia chamada a se fazer
presente puderem ser resolvidas de forma eficaz to-somente pelo uso
potencial da fora, mais a polcia tende a se aproximar da meta desafiante
de manter-se sempre disponvel e integralmente empenhada.
A proficincia tima serve ainda de reforo ao entendimento
conceitual de que o desempenho policial s pode ser adequadamente
tratado quando considerado a partir de uma anlise que leve em conta
tanto as mtricas e padres de medidas da eficcia quanto as da proficincia.
E disso que se trata agora.
4.4. Rumo a avaliao do desempenho policial: anlise conjunta da
eficcia e da competncia
A avaliao do desempenho policial pela anlise conjunta da eficcia
e da proficincia implica reconhecer que o estabelecimento de mtricas
tem o potencial de redefinir as formas pelas quais se percebe e entende a
prxis policial
17
. Este um tema particularmente oportuno porque mtricas
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
267
policiais se aplicam a um campo em que pr-existem prticas estabelecidas
para a descrio, mensurao e avaliao. A instituio de mtricas
concorre, desta forma, para o reenquadramento dos contornos pelos
quais se apreende o contedo e as formas de apreciao do fazer policial.
Possibilitam reinterpretar os resultados e as formas da ao policial em
termos de anlise conjunta de desempenho, conforme o esquema abaixo
(figura 7).
Figura 7. Desempenho policial
Pela eficcia d-se conta da capacidade da ao policial de
produzir o resultado desejado pela autoridade competente. A mtrica
de ef i cci a da mi sso (em termos de cumpri mento ou no
cumprimento) tem o potencial de reconfigurar o contedo e prtica
do comando e controle policial, ao revelar a demanda de qualidade de
parte a parte. Explicita tanto como a autoridade formula, pode ou
deve formular, os termos do resultado desejado, quanto como a polcia
se aproxima, pode ou deve se aproximar, da tarefa de produzi-los. A
mtrica dos resultados associados e colaterais remete diretamente
especificidade policial da ao, explicitando o significado substantivo
dos termos do consentimento social sob o Imprio da Lei. A estabilidade
essencial das regras de enfrentamento e expectativas sociais quanto
ao policial permitem reconhecer o carter distintivo do agir policial.
Explica-se a prioridade intrnseca das variveis cautelas (C), tempo
(T) e agentes policiais (P), desmistificando as variveis terreno (T) e
recalcitrante (R), ao revel-las passveis de priorizao ou no. Que
disso se possa extrair os elementos de contorno de uma tipologia dos
cinco tipos de ao policial, um resultado contra-intuitivo diante da
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
268
diversidade de tarefas da polcia, um benefcio que exemplifica o ganho
do estabelecimento de mtricas. Assim, se pode apontar como esta
compreenso da eficcia busca esgotar o significado dos elementos externos
ao de indivduos ou grupos policiais, seus contextos sociais e os
contornos particulares em uma dada situao.
Pela proficincia se busca esgotar o significado dos elementos
i nternos ao de i ndi v duos e grupos pol i ci ai s, permi ti ndo o
enquadramento sistemtico de sua habilidade no uso de recursos. O
que sejam os recursos disponveis e as formas como se pode us-los
so prvios e concorrentes,e essencialmente distintos da situao
em que a ao policial tem lugar. Pertencem caracterizao de um
determinado indivduo ou grupo e so, neste sentido, atributos
orgnicos. O recorte adotado para a instituio de mtricas d conta
da qual i dade do uso dos recursos di spon vei s na ao pol i ci al ,
estabelecendo um dilogo entre a forma de produo do resultado
da ao e as alternativas disponveis. Que suas mtricas identifiquem
como seus padres de medida dependem do estado-das-prticas,
ou do estado-da-arte, refl ete o ri gor de uma abordagem que
reconhece a mutabilidade contingente dos recursos policiais e das
formas de seu uso. Que seja a prpria mtrica da proficincia que
leve atualizao, no apenas da proficincia, mas principalmente da
prpria polcia diante de seu mister, tambm um resultado contra-
intuitivo, que diverge da idia de uma doutrina policial esttica das
formas do fazer policial. Ao agrupar os recursos policiais em termos
do suporte e arti cul ao organi zaci onai s, dos equi pamentos e
materiais, do acervo de procedimentos, da capacitao de indivduos
e equi pes, da capaci dade deci sri a e da competnci a pol i ci al
estabelece-se o arcabouo da escolha consciente de focos para a
apreciao e aperfeioamento da capacidade da polcia de se fazer
eficaz. exatamente a amplitude do seu escopo que explica o seu
potencial descritivo e analtico, to estreito como um componente
dentre os conjuntos de recursos, to amplo quanto a medida da
prpria proficincia global de uma dada organizao policial.
na anlise conjunta que se estabelece o dilogo entre a realidade
mensurada e a utilidade pretendida pela avaliao de desempenho.
este dilogo que explica e delimita o significado dos dados utilizados,
sua perti nnci a e uti l i dade para um determi nado propsi to,
organizacional, poltico, social. Depende do significado, politicamente
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
269
determinado e tecnicamente consistente, que se atribui s unidades
de medida adotadas e s variaes de cada medida aferida. Este
significado expressa termos particulares do que o consentimento social
e a vigncia das leis permite, espera e aceita da polcia numa dada
comunidade poltica. Isto evidencia a fragilidade de qualquer proposta
universal de avaliao de desempenho policial. Isso porque o contexto
social da ao policial atravessa todos os aspectos de sua prxis.
determinante do alcance e da resoluo das medidas de eficcia (quando
considera diferentes prioridades de resultados associados e colaterais)
e de proficincia (quando subordina seus padres de medida a estados-
da-prtica ou estados-da-arte), e, ainda, das medidas de desempenho.
A anlise conjunta tem lugar diante de um caso concreto e no
sobre uma abstrao. Aqui a questo distintiva, porque a anlise
converte os dados de uma determinada ao em elementos empricos
pela aplicao das mtricas. Essa precisamente a instncia em que a
posse de mtricas diferencia a anlise conjunta de outras formas de
juzo, porque o seu recorte do que pertinente e o seu enquadramento
de como i sso se rel aci ona com os resul tados da ao so
conceitualmente robustos. o que lhe permite criar ou aproveitar
acervos de dados, indicadores, resultados de outras avaliaes, etc.,
sem se furtar da crtica composio ou contedo de tais acervos.
Note-se que isso no significa que a anlise conjunta comece, ou tenha
que comear, do zero. Ao contrrio, ela j tem seus termos gerais das
regras de enfrentamento em vigor e, mais amplamente, do que est
estabelecido como a melhor prtica de uma determinada polcia. Isso
no exime que, na anlise conjunta de eficcia e proficincia, tenha-se
um espao de crtica propriedade de tais regras ou prticas.
Nada disso resulta direta ou automaticamente da medida em si.
A anlise conjunta, rumo da avaliao do desempenho, depende do
tratamento e da contextualizao do que se mensura. Em termos
amplos, do como se mede tanto quanto do que para que se mede.
Como isso externo s mtricas, precisamente porque as usa para
determinados fins, ento a questo pode ento ser colocada em termos
sucintos. A partir das formas de que se dispe para medir, e do que se
deseja ao considerar desempenho policial, o processo de anlise
conjunta a avaliao do desempenho policial corresponde identificao
dos insumos passveis de coleo e adequados a determinados fins
avaliativos pretendidos.
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
270
5. CONSIDERAES FINAIS
No existe uma frmula simples que permita mensurar o
desempenho policial em todas as suas atividades, em todos os lugares.
Tentativas de elaborar algum tipo de medidor universal a partir dos
resultados administrativos da atividade de cada polcia s tem utilidade
para os aspectos da organizao policial em que ela semelhante a qualquer
outra organizao. til como isso possa ser, minimiza, quando no anula,
o que o cerne distintivo do trabalho policial. No serve, portanto, para
a elaborao dos termos da avaliao do desempenho policial. A polcia,
enquanto polcia, tem que ser avaliada em termos do que so os seus
resultados e formas de agir, ou se arrisca a ser considerada por
perspectivas que ignoram sua destinao, dificuldades e realizaes.
O estabelecimento de mtricas para a eficcia e para a proficincia
policiais responde a esta perspectiva, explicitando os termos do porque
se prope medir o trabalho policial, e o que mensura deste trabalho, pela
identificao de padres de medida. Assim, estabeleceram-se os termos
de mensurao da eficcia policial, definida como a apreciao dos
resultados explicitamente demandados pela autoridade competente (a
misso policial, (M)), e dos resultados associados e colaterais luz dos termos
da autorizao social do uso de fora pela polcia numa comunidade poltica
(polity), sob o Imprio da Lei, agremiados na considerao das variveis
recalcitrante (R), terreno (T), tempo (T), agentes policiais (P) e cautelas
(C) sob as regras de enfrentamento policiais. Assim, pode-se agora exprimir
o todo das consideraes externas da ao policial em termos da
mensurao de seu resultado na forma sinttica do grafismo E =
M+RT
2
PC. A apreciao da forma como os estado-das-prticas e estado-
da-arte referencia o uso dos recursos policiais disponveis edificou o
entendimento de proficincia, que d conta do todo das consideraes
internas, neste sentido orgnicas a indivduos ou equipes policiais, da ao
policial. A identificao de conjuntos afins de recursos em termos de
suporte e articulao organizacionais, aos equipamentos e materiais, ao
acervo de procedimentos, capacitao de indivduos e equipes,
capacidade decisria e competncia policial orientados pela busca de
eficcia na ao pauta o processo diferencial de aferio da proficincia
numa organizao policial.
Com esta perspectiva, pode-se recuperar, na considerao da
avaliao conjunta, os termos que explicam porque se tem tais mtricas,
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
271
subordinando-os a uma destinao especfica, o que venha a ser o
propsito de uma determinada avaliao de desempenho. com isso em
mente que se podem reconhecer os benefcios e limites de tal avaliao.
A posse de mtricas, e de um conjunto articulado de mtricas e padres
de medida construdos sobre o enquadramento terico da polcia
corresponde a um recorte necessrio e suficiente para a mensurao, e
da portanto avaliao, do desempenho policial. Que cada uma destas
mtricas seja transparente em sua construo e especificidade assegura
que seus termos e resultados permaneam abertos crtica, sujeitos aos
mecanismos corretivos do conhecimento cientfico. Com ateno portanto
ao limites atuais de seu alcance e finitude de seus elementos, tem-se um
conjunto de mtricas que d conta de tudo que relevante no exerccio
autorizado do mandato do uso da fora sob a lei, onde a presena, a ao
ou a perspectiva delas pode explicar o resultado da ao policial, da soluo
policial.
Um ponto importante deste processo o que corresponde ao
entendimento da natureza, contedo e alcance das regras de enfrentamento.
Quando se compreende que elas expressam de forma dinmica os termos
do pacto social, da prpria autorizao que determina o mandato policial,
ganha-se uma perspectiva capaz de enfrentar a tendncia de tom-las como
expressando um tipo qualquer de tecnicalidade autnoma. Ao se perceber
o seu carter conformante das escolhas policiais admissveis, ganha-se a
liberdade pela qual compreender a forma como dialogam, interagem e
articulam a discricionariedade policial. Neste processo, percebe-se ainda
o carter ilimitado de sua competncia intrnseca, e o papel que tem no
processo de comunicao entre a polcia e a sociedade que ela policia, ao
emprestar os elementos de previsibilidade de termos pactuados que
maximizam a capacidade regulatria da prpria polcia, ampliando seu papel
no suporte ordem social.
na articulao entre contedos qualificados de misso policial,
apoiados neste entendimento das regras de enfrentamento como expresso
do consentimento social, e na incidncia de determinados aspectos da
proficincia que servem para produzir eficcia em uma dada polcia que se
pode reinterpretar o que sejam os descritivos da modernizao policial.
Modernizar adquire o contedo de um incremento na eficcia ou na
proficincia, seja na qualificao dos termos da misso, seja na melhora da
forma de uso dos recursos policiais em prol da eficcia. Mais ainda, explica
como uma e outra so elementos de tomada de deciso poltica, luz do
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
272
que sejam o estado presente da Idia de Polcia e os termos tecnicamente
consistentes de melhoria do desempenho policial de forma
crescentemente transparente. Isso confronta e expe o fetichismo de
incremento de efetivos, de bens de capital, de alcance organizacional,
subordinando-os a finalidades explicitamente conexas ao lugar de poltica
e ao servio policial para uma sociedade.
Com tudo isso, foroso reconhecer as dificuldades de aceitao
de mecanismos de avaliao de desempenho no mbito das organizaes
policiais, porque a vivncia de praticantes a principal fonte do
conhecimento sobre o tema. De fato, alguns dos principais autores de
estudos e trabalhos sintetizam trajetrias vividas mais do que elaboraes
de ambio conceitual. Avaliaes de desempenho neste ambiente de
conhecimento esto abertas contestao pela vivncia dos avaliados tanto
quanto vulnerveis aos vieses da vivncia presente de uma sociedade.
Isso relevante porque avaliaes de desempenho se confundem
com o prprio processo de avaliao do sucesso ou fracasso, da
propriedade ou impropriedade de uma poltica de Segurana Pblica,
quando deveriam servir como insumos para tal avaliao. Quo mais alta
a visibilidade de uma determinada ao, maior a sua conseqncia poltica,
e mais arriscado se torna avali-la sem o benefcio de mtricas e padres
de medida estabelecidos, praticados e experimentos a priori. Esta
dualidade tem efeitos sobre qualquer proposta de avaliao de
desempenho, porque arrisca contaminar o processo de avaliao,
instrumentalizando-o politicamente e levando mesmo ao seu abandono.
Diante de um fracasso ou de um sucesso problemtico, surgem
presses para que a avaliao de desempenho sirva ao propsito imediato
de apoiar a justeza da ao, e, por extenso, a correo da poltica de
segurana. Isso corresponde a dinmicas polticas e organizacionais
absolutamente corriqueiras, que no podem ser ignoradas, alm de
expressar os fatores de risco e erro de qualquer organizao orientada
pelo uso de fora. Mas o risco desse uso poltico da avaliao de
desempenho traz consigo as sementes da destruio da possibilidade de
avaliao. Para que se possa conduzir a avaliao de desempenho,
necessrio enquadr-la de tal maneira que esta instrumentalizao seja
mantida sobre controle, sob pena que a avaliao de desempenho no
sobreviva muito tempo. Onde a avaliao de desempenho tem ou adquire
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
273
este carter militante, de instrumento poltico de defesa inequvoca da
ao governamental ou policial, ela em breve acaba to irrelevante que
deixa de ser um argumento, e deixando de ser um argumento acaba sendo
abandonada. O que quer se tenha estabelecido como avaliao de
desempenho se reduz a mais um discurso, e o abandono de mtricas
infensas politizao um passo lgico, quando ento a questo pode
mesmo reverter a nomear como avaliao de desempenho juzos mais ou
menos militantes que alimentam os processos de construo de
legitimaes. Esta considerao tem ainda um outro lado: quando tudo o
que se tem para a avaliao de desempenho so juzos de valor, no h
como se saber se, quando, e o quanto eles so militantes.
Esta situao justifica a perspectiva de que uma avaliao de
desempenho capaz de pronunciar-se sobre o contedo da ao, aferindo
mrito em uma anlise pautada por mtricas conceitualmente robustas e
transparentes. A avaliao de desempenho cresce em credibilidade quando
seus resultados so transparentes, pautados por critrios tcnicos que
podem ser conhecidos no apenas pela organizao policial, mas pela
sociedade. Exatamente por isso, a avaliao de desempenho necessita ser
salvaguardada de interferncias, porque tende a ser alternadamente bem
recebida e valorada ou mal recebida e condenada pelos atores que so
objeto, ou sofrem as conseqncias da avaliao. Com isso, pode-se
elencar os seguintes elementos conclusivos.
Em primeiro lugar, estabelecem-se os parmetros pelos quais aferir
a propriedade do desempenho de um caso determinado. Existem bases
objetivas, as mtricas, para que se afirme a propriedade ou impropriedade
do processo de tomada de deciso das diversas instncias organizacionais
envolvidas, seja em termos amplos, da poltica pblica de Segurana
Pblica, seja em termos do processo de tomada de deciso expressa
numa misso policial, seja em termos da tomada de deciso discricionria
de agentes policias numa situao particular.
Em segundo lugar, estabelecem-se as bases conceituais para o
acompanhamento do desempenho de uma determinada organizao
policial, seja em termos do conjunto de seus agentes e equipes, seja em
termos individuais, ao longo do tempo. Isto permite orientar o processo
de preparo quanto aperfeioar o emprego, apoiando ainda o processo de
qualificao e especializao de unidades e capacitaes, dando rumo e
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
274
base a processos de auto-aperfeioamento em bases conceitualmente
claras: eficcia e proficincia policiais.
Em terceiro lugar, ao permitir medidas de eficcia ou proficincia,
permite estabelecer comparaes significativas no desempenho em termos
de grupamentos teis quanto a contextos, circunstncias e situaes de
contorno. Isto serve a uma variedade de processos organizacionais de
estruturao, priorizao e alocao de unidades e recursos, e ainda aos
elementos motivacionais da emulao e do aprendizado mtuo.
quando se consideram estes elementos que se pode apontar o
que a contribuio de ruptura do estabelecimento de mtricas: sua
capacidade de emprestar densidade tcnica ao processo de
responsabilizao policial. A questo mais ampla da responsabilizao
policial ainda aguarda estudos, e s possvel apontar contornos [Muniz
& Proena Jr 2003]. Sem embargo de que o tratamento desta questo se
encontra alm do alcance deste texto, inescapvel que se aponte como
o apresentado corresponde a um insumo crtico para o estabelecimento
de uma maior sintonia entre tomadores de deciso e avaliadores, entre
tomadores de deciso e operadores, e entre as organizaes policiais e a
populao [cf. Manning 1999b].
Assim, pode-se detalhar como mtricas e padres de medida
servem diretamente s prioridades polticas e s necessidades de controle
social sobre as polcias. A avaliao de desempenho permite a construo
de uma avaliao mrito substantivo da ao e da soluo policiais, de
todo o espectro de consideraes em que a polcia tem alguma relevncia.
Subsidia a definio e a compreenso dos propsitos e limites do
desempenho. Serve para que se possa estabelecer de maneira
politicamente conseqente e tecnicamente robusta as prprias condies
de execuo do fazer policial.
Notas
1
Este texto se beneficia do trabalho de pesquisa desenvolvido em conjunto com Mauro Guedes
Mosqueira Gomes (DSc), rico Esteves Duarte (MSc) e Tiago Cerqueira Campos (MSc), financiado
pelo prmio do Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas da SENASP/MJ em 2005 (Proc. No.
08020.0001500/2003-93, ref. 170-C-6), cujo informe final se encontra disponvel no site
www.mj.gov.br/senasp
2
Couper [1983], Whitaker [1996], Bayley [1998], Hoover [1998].
3
Para uma breve introduo ao caso brasileiro, ver Lima [1994], Garotinho et al. [1998], VVAA
[1998], Muniz [2001], Proena Jr & Muniz [2006a].
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
275
4
Ver Bayley [1994], Bayley & Shearing [1996, 2001], Feltes [2003].
5
Um panorama inicial incluiria Vizzard [1995], Cusson [1999], Manning [1999a], Fielding
[2002], Jones & Newburn [2002], Crank [2003], Feltes [2003], Manning [2004].
6
Esta apresentao expe resultados baseados em Blumberg [2001], Halberstadt [1994], Heal
[2000], Hunt [1999], Manning [1999c], Mijares et al. [2000], Muniz [1999] e Muniz, Proena
Jr & Diniz[1999].
7
Todas as sociedades humanas, sejam tribais ou complexas, desenvolveram, de acordo com suas
caractersticas histricas e culturais, mecanismos de regulao coletiva do comportamento
dos indivduos, de modo a garantir a coeso social na experimentao da diversidade humana,
e, com isso, a sua prpria possibilidade de existncia e reproduo simblica e material. A
ordem social uma expresso concreta da operao destes mecanismos de coeso. A ordem
social , antes de tudo, o entrecruzamento das diversas expectativas de ordem construdas pelos
mais distintos grupos sociais que compem uma sociedade. A ordem social construda pela
diversidade de territrios simblicos, morais, fsicos, etc. Se apresenta como cenrio do encontro
complexo da multiplicidade de fluxos sociais, dos eventos volteis e das interaes descontnuas.
Ela a expresso de uma gramtica ampliada e multicultural que possibilita a experimentao
de interesses divergentes e a emergncia de concepes plurais, de percepes distintas e
demandas diversas de ordem e segurana pblicas. Cf. Kappeler [2000a, b] e, mais amplamente,
Kappeler [1999], Bayley [1998b].
8
A escolha do termo recalcitrante, e por extenso recalcitrncia, busca circunscrever a
oposio de vontades de indivduos diante da paz social, da obedincia leis e o desafio ao
comandamento implcito ou explcito de agentes policiais. Por um lado, sua adoo busca dar
conta das diversas possibilidades, potenciais ou concretas, de conflitos, violaes ou violncias
nos quais a polcia pode vir a ter um papel. Por outro, restringe-se esta caracterizao a atos ou
atitudes em um determinado contexto. Desse modo, recusa juzos estigmatizantes e
discriminatrios que incriminam trajetrias, estilos de vida ou comportamentos sociais.
9
Ainda que o rumo da apresentao seja original dos autores, prenunciado em Proena Jr &
Muniz [2006b], oportuno contrast-lo com Clarke [1992], que se limita ao crime; Chalon et
al [2001], que aponta, corretamente, para o horizonte da governana e Neocleous [2000a] que
situa corretamente o que a questo central da preveno.
10
Este texto reconsidera e avana sobre Gomes [2001], Gomes & Proena Jr [2001] e os termos
do relatrio referenciado na nota 1. D sentido especfico aos elementos de enquadramento
propostos (ainda que no especificamente ao desempenho) em Reynolds [1997] e Blanchard
[1998].
11
Esta apresentao se beneficia e atualiza trabalhos anteriores, especialmente Gomes [2001]
e Gomes & Proena Jr [2001], ainda que tome um rumo particular luz da temtica policial.
A discusso de mtricas e indicadores no campo policial bem mais fragmentria do que se
poderia imaginar luz da visibilidade de experimentos como o Compstat, que pode ser apreendido
com mais detalhe e rigor do que em outras fontes em McDonald [2001, 2002]. Para mtricas e
padres de medida, veja-se Burge [1996], com a cautela de que o trajeto expositivo deste texto
remete s bases da possibilidade de mensurar de maneira significativa, e no a alguma forma de
medida pragmaticamente instituda.
12
Em todo processo de medida existem consideraes prvias que do conta da magnitude, da
resoluo e da viabilidade de se mensurar o que se deseja medir, assim como do propsito da
medida, ou seja, a sua utilidade social. Os trs primeiros aspectos relacionam-se com a questo
da escolha das unidades e escalas de medida, que resultam diretamente das mtricas adotadas,
subordinando-se aos fins da medida em termos de significado, discriminando o que se pode
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
276
medir num determinado momento em funo das possibilidades tcnicas de mensurao ou da
sua relevncia. A questo da utilidade da medida, do para que medir varia em funo dos
interesses e necessidades humanas e tem tratamento explcito nos itens conclusivos do texto.
13
De forma anloga, uma indstria qumica poderia formular unidades de medida que
enfatizassem no a ocorrncia da falha, como foi o caso do hospital, mas a extenso do perodo
de falha. Assim, sua unidade de medida de confiabilidade poderia ser o downtime, o tempo pelo
qual a ocorrncia da falha interrompe o funcionamento do software. Isso no altera nem a
mtrica, nem o padro de medida da confiabilidade, mas produz medidas e indicadores distintos
sobre a mesma realidade, precisamente porque o propsito da medida outro.
14
Isto significa que, no conceito de eficcia adotado no admite fragmentao da medida de
obteno do resultado desejado. Descartam-se, assim, quaisquer abordagens que queiram
expressar o sucesso no cumprimento da misso em termos parciais ou percentuais, com tudo que
isto tem de paliativo. Trata-se de afirmar de maneira inequvoca o carter polar do sucesso da
misso em termos da produo, ou no, do resultado desejado. Esta postura implica, em si
mesma, numa demanda explcita por clareza no que seja a misso de parte dos tomadores de
deciso. Como seria de se esperar, uma definio conceitual expressa num conceito de eficcia
traz rigor tanto para o output da ao o resultado desejado como para o input: os termos
pelos quais se expressa a misso para uma determinada unidade numa determinada ao.
importante marcar que esta uma demanda conceitualmente derivada para qualquer ao e
no uma questo de dever-ser administrativo. Sem clareza dos termos da misso, do resultado
desejado, torna-se impossvel qualquer perspectiva de avaliao de desempenho, entre outras
coisas.
15
Linhas de pesquisas que desenvolvam estudos sobre as representaes sociais acerca das
polcias e etnografias sobre as dinmicas formais e informais de resoluo de conflitos em uma
dada sociedade ou comunidade, por exemplo, podem ser muito teis para a elaborao de um
conjunto de mtricas de eficcia capaz de lidar com as formas pelas quais uma determinada
ao policial contribui para a reduo antecipada de oportunidades de ao recalcitrante, ou
induz auto-regulao social.
16
oportuno considerar, ao se tratar do controle do recalcitrante, o fato de que em algumas
circunstncias a polcia pode usar de fora potencialmente letal para produzir obedincia.
Cada pas tem dispositivos legais prprios para regulamentar e normatizar estas situaes. No
caso brasileiro, excluindo ocasies em que isso corresponde defesa da vida do policial ou de
outrem, matar deliberadamente um recalcitrante caracteriza-se como assassinato.
17
Veja-se a distncia que a considerao terica, articulada teoria de medida, estabelece
entre o que se expe e o rumo de Copuper [1983], Cordner et al [1996] e o prprio Cordner
[1996].
Referncias
Banton, Michael (1964), The policeman in the community. Basic Books.
Bayley, David H & Bittner, Egon (1989), Learning the Skills of Policing, Law and Contemporary
Problems, 47: 3559. now in Roger G. Dunham and Geoffrey P. Alpert, eds., Critical Issues in
Policing contemporary readings 4
th
edition, 82106. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press.
Bayley, David H. (1985), Patterns of Policing: A Comparative International Perspective. New
Haven: Rutdgers University Press.
(1994), Police for the Future. New York and Oxford: Oxford University Press.
(1996). Measuring Overall Effectiveness In: Hoover, Larry H (1996): Quantifying
Quality in Policing (PERF): 37-54.
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
277
(1998a), What Works in Policing. New York and Oxford: Oxford University Press.
(1998b), Patrol, in David H. Bayley, ed., What Works in Policing, 2630. New York
and Oxford: Oxford University Press.
Bayley, David H. and Shearing, C. (1996), The Future of Policing, Law and Society Review, 30/
3: 585-606.
(2001), The New Structure of Policing: description, conceptualization and research
agenda. Washington, DC: National Institute of Justice.
Bittner, Egon (1967), The Police in Skid Row: a study in peacekeeping, American Sociological
Review, 32/5: 699715 now in Egon Bittner (1990), Aspects of Police Work, 131156. Boston,
Mass: Northeastern University Press.
(1970), The Functions of the Police in Modern Society: a review of background factors,
current practices, and possible role models. Rockville, MD: Center for the Study of Crime and
Dellinquency. now in Egon Bittner (1990), Aspects of Police Work, 89232. Boston, Mass:
Northeastern University Press.
(1974), Florence Nightingale in pursuit of Willie Sutton: a theory of the police, in
Herbert Jacobs, ed., The Potential for Reform of Criminal Justice, vol 3. Beverly Hills, CA: Sage.
now in Egon Bittner (1990), Aspects of Police Work, 233268. Boston, Mass: Northeastern
University Press.
(1983), Urban Police, in Encyclopedia of Crime and Justice. New York: The Free Press.
now in Egon Bittner (1990), Aspects of Police Work, 19-29. Boston, Mass: Northeastern University
Press.
(1990a), Aspects of Police Work. Boston, Mass: Northeastern University Press.
(1990b), Introduction, in Egon Bittner, Aspects of Police Work, 318. Boston, Mass:
Northeastern University Press.
Blanchard, Benjamin S. (1998), System Engineering Management. New York: John Wyley &
Sons.
Blumberg, Mark (2001), Controlling Police Use of Deadly Force assessing two decades of
progress in Dunham, Roger G & Alpert, Geoffrey P, ed (2001): Critical Issues in Policing
contemporary readings. Waveland Press, 4
th
Edition: 559-582.
Brooks, Laure Weber (2001), Police Discretionary Behavior a study of style in Dunham, Roger
G & Alpert, Geoffrey P, ed (2001): Critical Issues in Policing contemporary readings (Waveland
Press, 4
th
Edition): 117-131.
Burge, Albert R. (1996). Test and Evaluation Based on Metrics, Measures, Thresholds and
Indicators (Publication and Documents (US DoD) <http://acq.osd.mil/te/pubdocs/bmmti.htm>,
11 January 2005.
Chalon, Maurice; Lenard, Lucie; Vanderschureren, Franz and Vzina, Claude (2001), Urban
Safety and Good Governance: the role of the police. Nairobi: International Centre for the Prevention
of Crime.
Clarke, Ronald V (1992), Introduction in CLARKE, Ronald V, ed (1992): Situational Crime
Prevention: Successful Case Studies. Harrow & Heston: 1-42
Cordner, Gary W. (1996), Evaluating Tactical Patrol, in Larry T. Hoover, ed., Quatifying Quality
in Policing, 185206. Washington, D.C.: Police Executive Research Forum (PERF).
Cordner, Gary W.; Gaines, Larry K. and Kappeller, Victor E., eds. (1996), Police Operations:
analysis and evaluation. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.
Couper, David C. (1983). How to Rate Your Local Police. Washington, PERF.
Crank, John P. (2003), Institutional theory of the police: a review of the state of the art, Policing:
an international journal of police strategies and management, 26/2: 186-207.
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
278
Cusson, Maurice (1999), Quest-ce que la securit intrieure? (What is internal security?),
electronic document, University of Montreal, [crim.umontreal.ca], 22 pages.
Dziedzic, Michael J. (1998), Introduction in Robert B Oakley, Michael J Dziedzic and Eliot M
Goldberg, eds., Policing the New World Disorder: peace operations and public security, 318.
Washington: National Defense University Press.
Feltes, Thomas (2003), Frischer Wind und Aufbruch zu neuen Ufern? Was gibt es Neues zum
Thema Polizeiforschung und Polizeiwissenschaft? (Fresh winds and a departure to new coasts?
What is new in police research and police science?), eletronic document, [www.thomasfeltes.de/
Literatur.htm], 9 pages.
Fielding, Nigel G. (2002), Theorizing Community Policing, British Journal of Criminology, 42:
147163.
Fletcher, Connie (1990), What Cops Know. New York: Pocket Books.
Garotinho, Anthony et al (1998), Violncia e Criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Editora Hama.
Gomes, Mauro Guedes F. M. & Proena Jr., Domcio (2001), Tactical Performance Evaluation:
a conceptual framework ITEA Journal September/October: 16-24.
Gomes, Mauro Guedes F. M. (2001), Mtodo para a obteno de Padres de Medidas de
Desempenho de Unidades da Fora Terrestre. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: GEE/PEP/
COPPE/UFRJ.
Halberstadt, Hans (1994), Swat Team: Police Special Weapons and Tactics. Motorbooks
International.
Hansen, A.S. (2002), From Congo to Kosovo: Civilian Police in Peace Operations. London: IISS /
Oxford University Press.
Heal, Charles Sid (2000). Sound Doctrine: a tactical primer. New York: Lantern Books.
Hoover, Larry T. (coord.) (1998). Police Program Evaluation. Washington DC: Police Executive
Research Forum and Sam Houston State University.
Hunt, Jennifer (1999) Police Accounts of Normal Force (in Kappeler, Victor E, ed (1999): The
Police and Society touchstone readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 2
nd
Edition:
306-324.
Jones, Trevor and Newburn, Tim (2002), The transformation of policing? understanding current
trends in policing systems, British Journal of Criminology, 42: 120-146.
Kappeler, Victor E et al (2000a) The Social Construction of Crime Myths in Kappeler, Victor E
et al (2000): The Mythology of Crime and Criminal Justice. Prospect Heights, Ill.: Waveland
Press: 1-26.
(2000b), Merging Myths and Misconceptions of Crime and Justice in KAPPELER,
Victor E et al (2000): The Mythology of Crime and Criminal Justice. Prospect Heights, Ill.:
Waveland Press: 297-310.
Kappeler, Victor E., ed. (1999), The Police and Society touchstone readings, 2
nd
Edition.
Prospect Heights, Ill.: Waveland Press.
Kelling, Geroge L (1996) Defining the bottom line in policing organizational philosophy and
accountability in Hoover, Larry H (1996): Quantifying Quality in Policing. Wahsington DC,
PERF: 23-36.
Kelly, Michael J. (1998), Legitimacy and the Public Security Function in Robert B Oakley,
Michael J Dziedzic and Eliot M Goldberg, eds., Policing the New World Disorder: peace operations
and public security, 399432. Washington DC: National Defense University Press.
Klockars, Calr B (1985), The Idea of Police. London: Sage.
Lima, Roberto Kant (1994), A Polcia da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
279
Forense.
Manning, Peter K (1999a) Mandate, Strategies and Appearances in Kappeler, Victor E, ed
(1999): The Police and Society touchstone readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 2
nd
Edition: 94-122.
(1999b) Economic Rethoric and Policing Reform in Kappeler, Victor E, ed (1999): The
Police and Society touchstone readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 2
nd
Edition:
446-462.
(1999c) Violence and Symbolic Violence in Kappeler, Victor E, ed (1999): The Police
and Society touchstone readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 2
nd
Edition: 395-401.
Manning, Peter K. (2004), Some Observations Concerning a Theory of Democratic Policing
(Draft), Conference on Police Violence, Bochom, Germany, April. 8 pp.
McDonald, Phyllis Parshall (2001), COP, COMPSTAT, and the New Profissionalism mutual
support or counterproductivity? in Dunham, Roger G & Alpert, Geoffrey P, ed (2001): Critical
Issues in Policing contemporary readings. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 4
th
Edition:
255-277.
(2002), Managing Police Operations implementing the New York Crime Control
Model CompStat New York: Wadsworth.
Mijares, Tomas, McCarthy, Ronald M. & Perkins, David B. (2000). The Management of Police
Specialized Tactical Units. London: Charles C Thomas Pub Ltd.
Muir Jr, William Ker (1977). Police: Streetcorner politicians. Chicago: The University of Chicago
Press.
Muniz, Jacqueline (1999) Ser policial sobretudo uma razo de ser. Tese de Doutorado. Rio de
Janeiro: IUPERJ.
(2001), A Crise de identidade das polcias (The polices identity crisis), REDES 2001
Meeting, Washington, DC, electronic document, 42 pp.
Muniz, Jacqueline & Proena Jr, Domcio (2003), Police Use of Force: The Rule of Law and Full
Accountability, Comparative Models of Accountability Seminar. INACIPE, Ciudad de Mexico,
29-30 October, 10 pp.
Muniz, Jacqueline; Proena Jr, Domcio; Diniz, Eugenio (1999). Uso da fora e ostensividade.
Boletim de Conjuntura Poltica. Belo Horizonte, Departamento de Cincia Poltica, Universidade
Federal de Minas Gerais.
Neocleous, Mark (2000a), Social Police and the Mechanisms of Prevention, British Journal of
Criminology, 40: 710726.
(2000b), The Fabrication of Social Order: a critical theory of police power. London: Pluto
Press.
Proena Jr, Domcio (2003a), O enquadramento das Misses de Paz (PKO) nas teorias da
guerra e teoria de polcia, in Esteves, Paulo Luiz (org.), 2003. Instituies Internacionais:
Comrcio, Segurana e Integrao. Belo Horizonte: Editora PUC Minas.
(2003b). Some Considerations on the Theoretical Standing of Peacekeeping Operations.
In: Low Intensity Conflict and Law Enforcement 9(3): 1-34. Frank Cass Co.
Proena Jr, Domcio. & Muniz, Jacqueline (2006a), Rumos para a Segurana Pblica no Brasil
- o desafio do trabalho policial, in Bartholo, R. e Porto, M.F. Sentidos do Trabalho Humano. Rio
de Janeiro: E-Papers: 257-268.
(2006b) Stop or Ill call the Police! The Idea of Police, or the effects of police encounters
over time, British Journal of Criminology 46: 234-257.
Rahtz, Howard (2003), Understanding Police Use of Force. Monsey: Criminal Justice Press.
Reiner, Robert (1996) Processo ou Produto? Problemas de avaliao do desempenho policial
Jacqueline de Oliveira Muniz e Domcio Proena Jnior
280
individual in Brouder, Jean-Paul, ed (2002): Como reconhecer bom policiamento. So Paulo:
EdUSP: 83-102.
Reynolds, Matthew T. (1997). Test and Evaluation of Complex Systems. John Willey & Sons.
Robinson, Cyril D.; Scaglion, Richard and Olivero, J. Michael (1994), Police in Contradiction: the
evolution of the police function in society. Westport, Conn: Greenwood Press.
Sacco, Vincent F (1996) Avaliando Satisfao in BROUDER, Jean-Paul, ed (2002): Como
reconhecer bom policiamento. Rio de Janeiro: EdUSP: 157-174.
Schmidl, Erwin A. (1998), Police Functions in Peace Operations in Robert B Oakley, Michael J
Dziedzic and Eliot M Goldberg, eds., Policing the New World Disorder: peace operations and
public security, 1940. Washington: National Defense University Press.
Skolnick, Jerome H. (1994 [1966]). Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic
Society. New York: Macmillan College Publishing Company, 3
rd
ed.
Vizzard, William J. (1995), Reassessing Bittners thesis: understanding coercion and the police
in light of Waco and the Los Angeles riots, Police Studies: International Review of Police
Development, 18/3: 118.
VVAA (1998) Crime Organizado e Poltica de Segurana Pblica no Rio de Janeiro, Arch no. 19.
Walker, Samuel (2004), Science and Politics in Police Research: reflections on their tangled
relationship, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593/1: 137
155.
Whitaker, Gordon P (1996) What is Patrol Work? in Cordner, Gary W et al, ed (1996): Police
Operations analysis and evaluation. Prospect Heights, Ill.: Anderson Pub Co.: 55-70.
Bases Conceituais de Mtricas e Padres de
Medida do Desempenho Policial
281
M
X
I
C
O
Comunicao
EXPERINCIAS DE INTERCMBIO POSITIVO
O PROCESSO DE CONSTRUO DE INDICADORES DE AVALIAO
DE DESEMPENHO COM A SECRETARIA DE SEGURANA CIDAD
DO ESTADO DE QUERTARO (SSC)
Ernesto Lpez Portillo Vargas
*
Ernesto Crdenas Villarello
**
ANTECEDENTES
Durante o ano de 2005, o Insyde concluiu o projeto denominado
Prestao de contas em um modelo de gerncia policial com a Secretaria de
Segurana Cidad do Estado de Quertaro
1
. O estudo buscou analisar os
processos da accountability a partir de uma perspectiva interna, isto ,
como uma ferramenta til da gerncia policial para empreender processos
de planejamento, controle e avaliao do desempenho policial.
A problemtica e as recomendaes derivadas desse estudo foram
analisadas conjuntamente com o titular
2
, os principais chefes na cadeia de
comando e as Coordenaes da Secretaria, em princpios de 2006. O
resultado geral desse intercmbio foi que se encontrou um bom nvel de
coincidncia entre os processos de reforma institucional iniciados pela
SSC antes, durante e depois da redao do relatrio final, e as propostas
do projeto.
A interseo de critrios e opinies em torno de pontos crticos da
problemtica e as alternativas de soluo propostas, no estiveram isentas
de crticas ou discordncias, tampouco os acordos foram produto do
acaso. Do nosso ponto de vista, os resultados alcanados derivaram de
dois fatores-chave que foram se entrelaando: por um lado, o enfoque
metodolgico aplicado ao projeto e, por outro, a disposio para mudana
dos comandantes. Esses fatores, conjuntamente, permitiram abrir uma
nova janela de oportunidade para que um organismo externo polcia
pudesse desenvolver um processo de acompanhamento institucional,
orientado para a construo de um modelo de prestao de contas policial.
Essa nova etapa apenas inicia e caracteriza o contexto em que se situa o
tema desse documento com relao construo de indicadores de
*
Ernesto Lpez Portillo vice-presidente e diretor executivo do Instituto para a Segurana e a
Democracia Insyde, e consultor internacional em reforma policial.
**
Ernesto Crdenas Villarello pesquisador da rea de Prestao de Contas e Superviso da
Polcia do Insyde.
avaliao do desempenho na SSC.
282
Experincias de Intercmbio Positivo
PROBLEMTICA
A SSC enfrenta atualmente um processo interno de transformao
em vrias direes, sustentado em planejamentos estratgicos globais,
que derivam da necessidade de conectar, sob uma nova perspectiva, o
tema da reestruturao de um sistema interno de informao policial que
responda s novas demandas. Esse processo reflete uma das questes
centrais do projeto: a necessidade de assegurar um controle razoavelmente
eficiente, eficaz e vlido que permita avaliar o que fazem e como o fazem,
os elementos e a cadeia de comando, no cumprimento de suas atribuies.
O problema de diagnosticar o que e o como do desempenho policial,
foi abordado pelo projeto por meio da anlise dos processos de trabalho policial
chamados substantivos, ou seja, aqueles processos que esto diretamente
relacionados com os resultados da operao policial. So os seguintes:
a) os processos de superviso atravs da cadeia de
comando;
b) os procedimentos de recepo e gesto da queixa (interna
e cidad);
c) sistema disciplinar e rgos internos de sua gesto e
controle (Assuntos internos e o rgo Interno de Controle);
d) os procedimentos formais e informais de avaliao do
desempenho policial;
e) os sistemas e os fluxos de informao que os comportam.
A metodologia para a anlise de cada processo partiu do critrio de
privilegiar a problematizaco das relaes fundamentais entre suas partes, os
efeitos e a explorao das causas que do lugar a fatores crticos relevantes.
Esses fatores podem ser resumidos nos seguintes enunciados que foram
expostos em detalhes no relatrio final do projeto, em fins de 2005:
a) a superviso operacional que a SSC realiza atravs da
cadeia de comando carece de controles laterais que lhe
tragam informaes seguras sobre o desempenho policial;
b) os procedimentos de recepo, controle e gesto de
queixas carecem de controles que, do ponto de vista
normativo, concedam exatido ao processo;
283
Ernesto Lpez Portillo Vargas e Ernesto Crdenas Villarello
c) os rgos internos responsveis pelo controle,
investigao e sano da conduta policial apresentam uma
estrutura organizacional e mecanismos operativos pouco
adequados para o desempenho de suas atribuies;
d) coexistem diferentes procedimentos e prticas formais
e informais de avaliao do desempenho policial, que atuam
adversamente no nvel de profissionalizao, aprendizagem
e crescimento do pessoal policial;
e) os procedimentos que sustentam o planejamento
operacional policial apresentam problemas de concepo
e se observa uma subutilizao de informaes teis para
a anlise estratgica e a avaliao de resultados;
f) os sistemas e fluxos de informao que do suporte aos
chamados processos substantivos, no se encontram
devidamente articulados e so subutilizados, j que se
carece de um sistema integral de indicadores de medio
do desempenho.
Esse diagnstico gerou diversas reaes, embora, em meados de
2006, o reconhecimento e o avano dos processos internos de reforma
na SSC conduzissem confirmao, por parte da instituio, que as
propostas de melhoria sustentadas pelo Insyde guardavam uma grande
coincidncia com os processos, critrios e vises gerais em
desenvolvimento na SSC.
Isto no significa que o Insyde responsvel direto pelo processo,
realmente existente, de transformao interna da polcia de Quertaro.
O que pode ser afirmado que, sem dvida, as iniciativas de mudana so
responsabilidade direta dos atores institucionais, e delas o Insyde apenas
tomou conhecimento ou observou durante os ltimos meses. Por exemplo,
sobressai o desenho das ordens gerais como um instrumento relevante
nos processos de planejamento e controle operacional; a criao do
escritrio de planejamento policial que vem a cobrir deficincias na
matria; a colocao em operao de um sistema de avaliao policial
(modelo de avaliao desenhado com base em indicadores) elaborado
com alto nvel tcnico e metodolgico pelo pessoal da SSC; a
reestruturao orgnica e funcional do rgo Interno de Controle e da
Coordenao de Assuntos Internos, que tem como objetivo remediar
284
deficincias nas tarefas de controle, investigao, sano da conduta e
superviso do desempenho policial, entre outras aes. So essas algumas
das iniciativas concretas mais importantes atualmente em curso na SSC, e
que transcendero no desenvolvimento organizacional da instituio. Essa
experincia, vista no seu conjunto, decorre de sua extraordinria relevncia
e ser necessrio consider-la em um futuro prximo.
SITUAO ATUAL E PERSPECTIVAS
A conjuntura atual do projeto e sua relao com a instituio
enquadram-se na iniciativa da SSC de que o Insyde acompanhe o
desenvolvimento de um Sistema Interno de Informao Policial (SIIP).
Essa iniciativa deriva, por sua vez, de um processo de combinao
e anlise entre ambas instituies e tambm coincide com uma das
propostas centrais do projeto: a de criar um sistema de informao e
monitoramento para o servio interno da Secretaria
3
. Nesse sentido, a
participao do Insyde se coloca em sincronia e atualiza os processos
estratgicos que empreende atualmente a Secretaria.
O primeiro passo que, por sua vez, representa o primeiro problema
por resolver, definir o objetivo do sistema de informao policial:
O objetivo do SIIP tem como foco garantir que o processo
de tomada de decises que realiza a instituio sobre
aspectos-chave de sua operao se realize com base em
procedimentos formais, eficientes, eficazes, visveis e
adequadamente transmitidos, e garanta que as decises
se enquadram nas normas que regem os direitos e
obrigaes dos envolvidos.
A partir dessa noo, preliminar e sujeita ainda a ser discutida com a
instituio, o projeto define o papel da informao e do processo de tomada
de decises na construo de um sistema de prestao de contas policial.
O passo seguinte parte da identificao das funes e atribuies
que deve cumprir como sistema de informao policial, que se traduziro
em objetivos especficos Paralelamente, se definem as tarefas imediatas
associadas a essas funes. O quadro abaixo mostra a correlao entre
ambos os processos:
Experincias de Intercmbio Positivo
285
Funes estratgicas que o
SIIP deve cumprir
Desenvolver a base tcnica para que
o processo de tomada de decises e
suas conseqncias sejam levadas a
cabo sob princpios de transparncia,
validade e formalidade.
Garantir congruncia e eficcia aos
mecanismos internos responsveis
por gerar, captar, analisar e transmitir
informao policial.
Cumprir com o propsito operacional
de ser fornecedor e facilitador de
informao til e segura para outras
reas da SSC.
Constituir-se na principal instncia
especializada na administrao,
anlise e controle de informao
policial.
Operar como um mecanismo
estruturado, eficiente, confivel e
passvel de melhoria, em matria de
informao policial.
Desenvolver e operar uma
plataforma de indicadores de
medio do desempenho como
garanti a de funci onamento e
princpio de qualidade.
Aes concretas para o
sustento e desenvolvimento
das funes estratgicas
Definir temas estratgicos
relacionados com a eficincia e a
efetividade no processo de tomada
de decises. Por exemplo:
incidncia criminal, conduta e alerta
oportunos, recursos e logstica,
superviso, disciplina e controle
operacional, etc.
Analisar os processos e
microprocessos do trabalho policial
que possibilitem gerar as propostas
de melhoria e permitam identificar
novas necessidades de informao
para a tomada de decises.
Analisar os fluxos de informao,
fortalecer e desenvolver as bases de
dados de cada processo de trabalho
policial e consolidar a plataforma
tecnolgica.
Ajustar, desenhar e controlar o
sistema de sada de informaes,
usurios e periodicidade, com base
em formatos de planilhas
automatizadas, de fcil acesso e
interpretao.
Ajustar, redefinir ou desenvolver
permanentemente o catlogo de
dados por cada processo de trabalho
policial.
Estruturar um sistema de indicadores
de medio do desempenho alinhado
com os objetivos e com a estratgia
da instituio.
Ernesto Lpez Portillo Vargas e Ernesto Crdenas Villarello
286
Na delimitao dessas tarefas, o modelo de um sistema de
indicadores para avaliar o desempenho constitui uma das peas-chave na
consolidao do SIIP em seu conjunto. O problema tcnico a resolver
quanto formulao de indicadores, nos remete a trs aspectos a serem
solucionados: um relacionado com a consistncia dos mecanismos de
captura de informao, isto , o tipo e forma de registro; outro relacionado
com a tcnica de medio das aes ou funes policiais; e outro de tipo
conceptual relacionado com a administrao, controle e utilidade do
sistema de indicadores.
Geralmente se distinguem dois tipos de indicadores: os de processo
e os de resultados. Cada um deles pode ser quantitativo ou qualitativo e
deve estar associado a um objeto ou objetivo previamente definidos em
medidos; Esse objeto a ser medido pode incluir um amplo espectro,
desde as percepes cidads at a relao custo-benefcio no desempenho
policial. O problema tcnico que no fcil precisar a distino entre
indicadores de resultados e de processos. Est muito relacionada com
as necessidades do usurio, a tcnica de registro, a fonte provedora de
informao ou de dados, o uso ou interpretao, e, inclusive a composio
particular do seu formato. Na prtica, para alguns usurios um indicador
de processo pode ser de fato de resultados e vice-versa. Sob esse ponto
de vista, o problema se resolve com definies.
Por exemplo, caso se pretenda medir a capacidade e o tempo de
resposta ante a demanda de servios policiais em situaes de emergncia,
o tempo de resposta ser, naturalmente, a varivel a medir. Essa varivel
estar relacionada ao tempo do ciclo do servio policial que transcorre,
por exemplo, desde o momento em que o cidado solicita por linha
telefnica (066) um servio de emergncia (localizado em uma estrada
de jurisdio estatal), passando pelo tempo em que essa solicitao se
transforma em uma ordem de interveno ao comando de regio,
convertida em uma ordem direta de servio de emergncia para o oficial
mais prximo, at concretizar-se em um servio prestado com a
presena ou interveno do oficial de polcia no incidente. Nesse processo,
o ciclo do servio policial pode consumar-se em segundos, minutos ou,
inclusive, em horas, dependendo do cenrio e de fatos circunstanciais.
Os resultados, do ponto de vista do cidado em situao de
emergncia, podem ser excelentes ou pssimos, segundo o papel que ele
Experincias de Intercmbio Positivo
287
desempenha na ocasio. Dessa forma, o desempenho do ciclo do servio
policial pode refletir mltiplos indicadores. Por exemplo, o nvel de
coordenao e eficincia que se d ao longo desse processo de trabalho
policial de interesse para a gerncia policial e poderia ser interpretado
como um indicador de processo, e tambm de resultados. O tempo de
entrega de um servio de emergncia e o consumo de gasolina pode
ser de interesse para o administrador de recursos financeiros da polcia.
E a percepo do cidado tambm pode estar influenciada por amplas
margens de variao, sob determinadas circunstncias. Nesses termos, a
distino entre processo e resultado pode ser convencional.
O exemplo anterior tambm amostra uma tcnica possvel para a
construo de modelos de avaliao do desempenho. A definio das
variveis a serem medidas em determinado cenrio determinante na
composio do indicador. A construo de modelos de avaliao para
determinados cenrios de atuao policial, desse ponto de vista, exige
um conhecimento profundo do problema. Em muitos casos, requer uma
explorao de informao estatstica para reconhecer padres e depois
encontrar a frmula adequada para medi-lo e solucion-lo, ou seja, para
aplic-lo no processo de tomada de decises correspondente.
Na SSC, o sistema de ordens gerais se enquadra nessa concepo,
onde certas funes e atuaes policiais esto previstas e possibilitam sua
medio. Nesse sentido, a distino mais ou menos forada entre
indicadores de processo e de resultados pode ficar superada quando a
avaliao se realiza em cenrios probabilsticos. O projeto considera que
necessrio explorar procedimentos de avaliao do desempenho com
base em cenrios, sem descartar a priori a definio de um amplo catlogo
de indicadores de resultados e de processo, tal e como so conhecidos
na literatura sobre o tema.
A construo e aplicao de um sistema de indicadores de
desempenho uma base de cenrios de atuao policial requer algumas
ferramentas. Uma delas dispor de um mapa de indicadores de dois
tipos: bsico e estratgico. A distino entre bsico e estratgico, tambm
convencional e depende do nvel em que o indicador contribui para
que sejam alcanados os objetivos estratgicos da instituio.
O problema definir em que medida contribui um determinado
indicador no cumprimento dos objetivos. A maneira proposta que sejam
Ernesto Lpez Portillo Vargas e Ernesto Crdenas Villarello
288
analisadas as causas e os efeitos que produz o indicador. Um princpio que
queremos discutir a possibilidade de construirmos indicadores de
desempenho que relacionem de maneira contnua causas e efeitos, at
que se garanta que sejam alcanados determinados objetivos com base
em indicadores de desempenho.
A ilustrao abaixo mostra o processo de alinhamento dos
indicadores de desempenho com os objetivos institucionais, no nvel e na
profundidade desejada.
O diagrama mostra como determinadas reas de ao se definem
pelos seus objetivos estratgicos, tticos, metas, etc, os quais devem ser
alcanados para cumprir com sua atribuio legal. Contudo, cada rea de
ao apresenta determinadas reas crticas, que se manifestam como causas
de ineficincia na busca dos objetivos estratgicos. Os indicadores de
desempenho tm como funo medir precisamente as causas e os efeitos
das variveis crticas que intervm nos processos de trabalho policial.
Essa concepo alinha os indicadores de desempenho em funo de
variveis e reas crticas, at alcanar, em um encadeamento sucessivo de
causas e efeitos, os objetivos estratgicos propostos pela gerncia policial.
Se em curto prazo o Insyde conseguir chegar a construir
conjuntamente com a instituio um sistema de indicadores de
desempenho, a partir dessa perspectiva geral ou de alguma maneira similar,
teremos dado um passo modesto no processo de construo de
experincias para estabelecer um modelo de prestao de contas no
Mxico.
Experincias de Intercmbio Positivo
Police
planner
289
Notas
1
Na pgina www.insyde.org.mx se poder obter uma cpia desse estudo com a autorizao da
SSC.
2
Os resultados desse projeto contaram com a abertura do Ing. Edgar Mohar Kuri, secretrio de
Segurana Cidad do estado de Quertaro que nos permitiu entrar nas instalaes da SSC com
absoluta liberdade e confiana.
3
Relatrio sobre prestao de contas em cdigo de gerncia policial. Secretaria de Segurana
Cidad do estado de Quertaro. Insyde. Mxico. 2006. pp. 105 119 (indito)
Ernesto Lpez Portillo Vargas e Ernesto Crdenas Villarello
290
B
R
A
S
I
L
Relato Policial
SISTEMA INFORMATIZADO DE
ACOMPANHAMENTO CRIMINAL- SIAC
Marco Antnio Bicalho
*
1. ANTECEDENTES
O caso apresentado diz respeito implantao do Sistema
Informatizado de Acompanhamento Criminal - Siac na subrea da 128
Companhia da Polcia Militar do Estado de Minas Gerais, com
responsabilidade territorial em parte da regio leste da capital mineira,
como ferramenta operacional na busca da reduo das taxas de
criminalidade violenta, com foco principal nos crimes de homicdio (tentado
e consumado).
O Siac um programa de computador desenvolvido empiricamente
na sede da Frao Policial Militar mencionada, durante a minha gesto
como comandante, que trouxe resultados palpveis no que se refere s
estatsticas criminais, e que hoje passou a ser adotado pelo Comando de
Policiamento da Capital CPC como poltica de comando para todas as
companhias com responsabilidade territorial de Belo Horizonte.
A 128 Cia PM Especial, localizada rua Caravelas, 811, bairro
Saudade, no municpio de Belo Horizonte, responsvel pela preservao
da ordem pblica no espao territorial ilustrado nos mapas constantes do
anexo A.
Para melhor entendimento do projeto desenvolvido, que gerou
mudana de comportamento dos policiais da Cia nas aes e operaes de
polcia ostensiva tendentes a assegurar a incolumidade das pessoas que residem
ou transitam na regio e do patrimnio pblico ou particular, necessrio
descrever as caractersticas da subrea atendida pela 128 Cia PM:
1.1 - Caractersticas e aspectos particulares de bairros e aglomerados.
A subrea da 128 Cia congrega os seguintes bairros: Novo So
Lucas, So Lucas, Santa Efignia, Novo Santa Efignia, Paraso, Baleia,
Pompia, Esplanada, Saudade, Jardim Pirineus, Jonas Veiga, Vera Cruz,
* Major da Policia militar do Estado de Minas Gerais; Comandante da 128 Companhia.
291
Alto Vera Cruz, Granja de Freitas, Taquaril e Castanheira.
Os 16 bairros abrigam diversos aglomerados urbanos, sendo os
principais deles: Novo So Lucas, Unio, Paraso, Ponta do Navio, Pedreira,
Alto Vera Cruz, Vila da rea e Taquaril.
Abrigando uma populao aproximada de 150 mil habitantes, sendo
que 60% deles reside em aglomerados, verifica-se na subrea uma
diversidade significativa de comportamentos da populao, natureza de
delitos e demanda especfica de policiamento, decorrentes da forma de
ocupao e utilizao do espao fsico e imobilirio.
Nesse sentido, emergem necessidades especficas de reas
residenciais construdas de forma horizontalizada, caractersticas dos
bairros Pompia, Esplanada, Paraso, Saudade, Vera Cruz, So Lucas, Jardim
Pirineus e Santa Efignia.
Paralelamente, existem logradouros onde concentram-se a
explorao da atividade comercial e empresarial, tornando-os alvo de aes
criminosas visando a subtrao de patrimnio, atravs das mais diversas
modalidades delituosas, com destaque para os roubos a mo armada em
desfavor de estabelecimento comerciais, furtos e roubos a pessoas que
transitam por essas vias, alm do arrombamento a residncias.
Nos aglomerados e vilas existentes na subrea, verifica-se que a
ocupao desordenada e a concentrao de pessoas em espaos fsicos
de intensa proximidade, criam as condies para que sejam afloradas as
desavenas, agresses fsicas e verbais entre as pessoas, predominando
os delitos contra as pessoas ou em desfavor da tranqilidade e da paz
pblica.
Outra caracterstica particular dos aglomerados a infiltrao de
marginais que vislumbram nessas reas a possibilidade de desenvolver
suas atividades criminosas ou buscar refgio seguro, devido a dificuldade
para o exerccio de policiamento preventivo eficaz nos becos, em razo
da concentrao de populao e moradias, aliadas a uma topografia
acidentada e ocupao desordenada do espao fsico, situao que dificulta
o acesso e a locomoo do policiamento.
Marco Antnio Bicalho
292
De igual sorte, o trfico de drogas utiliza-se desses aglomerados
para estabelecer a sua rede de armazenamento e distribuio de drogas,
estabelecendo em pontos especficos e determinados as conhecidas bocas
de fumo, destinadas comercializao ilegal de entorpecentes.
importante destacar que embora a subrea da Cia tenha sob sua
responsabilidade, aproximadamente, a 24 parte de toda a extenso
territorial de Belo Horizonte, possui dois dos cinco maiores aglomerados
da capital mineira, quais sejam: o Alto Vera Cruz e o Taquaril, cada um
com cerca de 35 mil habitantes. Ambos so alvos constantes de matrias
jornalsticas, principalmente no que diz respeito violncia urbana.
2. O SURGIMENTO DO SISTEMA
A partir do ano de 1999, quando se implementou no Comando de
Policiamento da Capital o projeto Polcia por Resultados, que tinha como
pilares de sustentao o emprego do geoprocessamento da criminalidade,
interao comunitria, descentralizao das aes e avaliao dos
resultados, os esforos operacionais de polcia ostensiva deveriam ser
convergidos em maior intensidade nos locais de maior incidncia criminal.
Em que pese a lgica da concentrao dos esforos onde o crime
estava acontecendo ser adequada, percebia-se que ela apenas provocava o
deslocamento da atuao criminal para outros locais, considerando que a
saturao de policiamento onde j havia ocorrido o crime no prevenia a
sua ocorrncia onde no havia a concentrao de policiamento. Alm disso,
o fato de policiar uma regio onde a incidncia criminal j havia despontado
dava a sensao de que a polcia estava sempre um passo atrs do criminoso,
o que causa o sentimento subjetivo de insegurana social.
A insuficincia da saturao dos hot spots atravs de aes e operaes
policiais, conduziu o Comando da 128 Cia PM necessidade de estudar e
melhor conhecer o perfil dos criminosos atuantes na regio e suas formas
de ao, bem como das vtimas e dos demais fatores que envolvem a prtica
do crime.
O recrudescimento da violncia aliado necessidade cada vez mais
premente de se respeitar os direitos humanos e a dignidade das pessoas
que sofrem com a violncia, principalmente dos moradores dos aglomerados
Sistema informatizado de Acompanhamento Crimilnal- SIAC
293
que convivem sob constante ameaa dos marginais homiziados nessas
comunidades e da atuao contundente dos policiais, bem como dos prprios
agentes do crime, passaram a exigir dos organismos policiais aes mais
inteligentes de combate a essa violncia, de forma a reprimir especificamente
o mal feitor, poupando os cidados de bem.
Essa atuao qualificada e pontual contra as pessoas que realmente
causavam instabilidade nesses locais, s seria possvel a partir da formao
de um banco de dados confivel, sobre o qual seria dado tratamento
adequado para utilizao pela Polcia Militar, pela Polcia Civil, pelo Ministrio
Pblico e pelo prprio Poder Judicirio na formao da convico no curso
do processo legal.
A busca por conhecimento teve incio a partir do trabalho realizado
pelo policiamento velado da 128 Cia PM, que idealizou um lbum de
fotografias de criminosos, contendo informaes sobre suas vidas
pregressas criminais, endereos alm de outros dados relevantes.
Esse lbum de fotografias foi aprimorado e ampliado por militares
do Grupo Ttico da Companhia, que passaram a adotar o mtodo de
fichas criminais digitadas em Word e anexadas s fotografias retiradas
de jornais e apreendidas quando da priso de marginais. Em muitas
oportunidades, a atualizao das fichas era feita de forma manuscrita, direto
nas fichas dos criminosos.
Em razo do lbum de fotografias ser bastante consistente e conter
um grande nmero de fichas, passou a ser utilizado inclusive por policiais
civis quando realizavam investigaes na subrea de responsabilidade da
128 Cia PM, bem como por militares de Unidades Especializadas da PM
como do Batalho Rotam.
J no ano de 2003, em funo do elevado nmero de fichas do
lbum e do volume formado por elas, surgiu a necessidade de informatiz-
lo, qualificando o dado ali existente, aplicando-se a eles as anlises estatsticas
criminais da Cia. Alm disso, a anlise das fichas permitiu o cruzamento
de informaes e estruturao das gangues de trfico de drogas existentes
na regio.
O analista de geoprocessamento e criminalidade da Cia foi desafiado
a desenvolver um programa de computador que pudesse absorver a
Marco Antnio Bicalho
294
informao contida no fichrio e ser utilizada em formato digital por toda
a companhia na atuao contra o crime. Em seu auto-ditatismo e sem
realizar qualquer curso na rea de informtica, o militar desenvolveu o
programa em ambiente Access, com base em apenas uma tabela, que
passou a ser mais uma ferramenta de trabalho para a priso de marginais
conhecidos da regio.
Inicialmente, o programa conseguia reunir em cada cadastro de
indivduo preso os dados de identificao pessoal, fotografia digitalizada,
endereo, caractersticas pessoais, Boletins de Ocorrncias em que tivesse
sido envolvido, armas utilizadas, modus operandi, pronturios e processos
criminais, breve relato das aes e crimes praticados, entre outros dados.
Foi adotada uma nova estrutura de organizao e funcionamento da
frao, alm de uma nova rotina de trabalho direcionada s ocorrncias
de crimes violentos, principalmente no que diz respeito aos homicdios
na forma tentada e consumada, assaltos a estabelecimentos comerciais, a
coletivos e a transeuntes, com o objetivo de potencializar a qualidade dos
servios prestados pela 128 Cia PM comunidade.
3. O EMPREGO DO SIAC NA ATIVIDADE OPERACIONAL
Dentro desse conceito, destaca-se a eficiente utilizao dos recursos
computacionais no combate criminalidade, utilizados da forma abaixo
descrita:
Cada ocorrncia de crime violento registrada na subrea lida e
analisada pelo analista de inteligncia da Cia. Quando o autor conhecido
e j possui um cadastro no programa de gerenciamento de dados, as
informaes referentes quela ocorrncia so acrescentadas ao cadastro
do marginal, alm de ser retirada uma fotografia digitalizada e atual que vai
anexa ao mencionado cadastro.
Caso o autor seja desconhecido e foi preso, aberta uma nova
ficha de cadastro e retirada uma fotografia digitalizada por uma cmera
digital que colocada a disposio especificamente do pessoal do servio
operacional. Esse cadastro atualizado todas as vezes que o mesmo
indivduo envolve-se em ocorrncia policial.
Sistema informatizado de Acompanhamento Crimilnal- SIAC
295
Quando o autor desconhecido, os dados so registrados em ficha
sem autoria e analisadas informaes que possam indicar a possibilidade
de ser algum marginal j cadastrado, e, a partir de ento, o indivduo passa
a ser alvo de abordagens policiais, na tentativa de esclarecimento do crime
praticado.
Essas informaes so analisadas e cruzadas pelo agente que opera
o programa, o que lhe permite identificar o indivduos que compem as
gangues e suas reas de atuao.
As gangues atuantes na regio so estruturadas, sendo emitido um
relatrio sobre os componentes, funes que exercem, fotografias,
mapeamento da rea de atuao e histrico de suas aes.
Nos casos de homicdios tentados e consumados no esclarecidos
no ato do registro da ocorrncia, aps o lanamento das informaes no
banco de dados, militares do Grupo Ttico retornam ao local para
levantamento de novas informaes sobre a motivao do crime, autoria
e informaes sobre a vida pregressa das vtimas que permitam o seu
esclarecimento.
So emitidos relatrios mensais contendo dados relevantes sobre
os crimes, vtimas e possveis autores.
Com o esclarecimento dos crimes e identificao das gangues, so
feitos contatos com a Polcia Civil, no sentido de solicitar empenho daquela
instituio junto ao Poder Judicirio na expedio de mandados de busca e
apreenso e mandados de priso, acompanhados de informaes
relevantes e consistentes, com o objetivo de sustentar os pleitos e formar
convico das autoridades judicirias.
Dado o timo relacionamento e o trabalho integrado entre os
policiais militares da 128 Cia PM e os policiais civis da 6 Delegacia Distrital,
com subrea de responsabilidade correspondente frao PM, muito
comum a solicitao de informaes sobre marginais e fichas cadastrais
do Siac, por parte do Dr Elias Oscar de Oliveira, Delegado Titular da 6
DD, para instruir os Inquritos Policiais realizados.
Alm desses servios, o Siac utilizado como fonte de informao
por parte dos policiais que trabalham na atividade operacional (atendimento
Marco Antnio Bicalho
296
s ocorrncias), que imprimem fichas cadastrais de pessoas que estejam
sob a custdia desses e as anexam s ocorrncias em que o autor preso
em flagrante, a fim de suprir a autoridade de polcia judiciria de dados ao
receber a ocorrncia policial.
Aps a expedio dos respectivos mandados, so feitas operaes
conjuntas, objetivando a retirada de agentes de crimes violentos da subrea
de atuao da 128 Cia PM e 6 DD.
A partir de junho de 2005, o banco de dados gerenciais sobre os
criminosos atuantes na rea de responsabilidade da 128 Cia PM e 6 DD,
passou por um aperfeioamento tecnolgico, a fim de potencializar a
ferramenta de uso operacional.
O trabalho desenvolvido pela 128 Cia PM desde o incio do ano de
2003, e com a participao da 6 DD a partir de janeiro de 2005, tem
surtido bons resultados no que diz respeito ao crescimento do nmero
de mandados de busca e apreenso e priso de marginais cumpridos
atravs de operaes conjuntas, fornecimento de informaes para Diviso
de Crimes Contra a Vida da Polcia Civil, desestruturao de gangues de
traficantes e homicidas dos aglomerados, identificao, cadastramento e
priso dos principais marginais atuantes na rea, atravs do banco de dados
conjunto 128 Cia e 6 DD.
Em funo dos bons resultados, o trabalho foi apresentado ao Crisp/
UFMG em meados de 2004, durante um curso promovido pela Secretaria
Estadual de Defesa Social e coordenado pelo professor Cludio Beato,
como treinamento de policiais civis da Delegacia de Homicdios e policiais
militares das Cias PM que tinham Grupamentos Especializados em
Policiamento de reas de Risco Gepar para atuao junto ao programa
Fica Vivo, adotado como poltica de governo do atual Governador do
Estado de Minas Gerais.
4. OS PRIMEIROS RESULTADOS
O emprego do Siac aliado a outras ferramentas uti l i zadas pel a
128 Companhia no enfrentamento criminalidade trouxe resultados
positivos como a reduo considervel das taxas de criminalidade
Sistema informatizado de Acompanhamento Crimilnal- SIAC
297
violenta da regio, com destaque para os crimes de homicdio (tentado
e consumado).
Uma dessas boas ferramentas que se encaixaram ao Siac foi a
instituio do Grupamento Especializado em Policiamento de reas de
Risco Gepar. Trata-se de um grupo de policiais treinados dentro da
doutrina de policiamento comunitrio e dos direitos humanos, inclusive
com participao do Crisp/UFMG, especificamente para atuarem nos
aglomerados Alto Vera Cruz e Taquaril que se utilizaram do sistema para
realizao das prises qualificadas, direcionadas especificamente aos
criminosos, evitando-se os equvocos e os constrangimentos das pessoas
de bem dessas comunidades.
Esse tipo de atuao promoveu a melhoria das relaes entre polcia
e comunidade, com conseqente aumento da confiana nas instituies
de segurana pblica, embora ainda no tenhamos atingido a situao ideal
nessa relao.
Seguem abaixo alguns dos dados estatsticos relativos aos anos de
2003 a 2006, que permitem avaliar os resultados obtidos a partir da
implantao do sistema, numa poca em que a violncia tende a crescer
nas grandes capitais do pas, e no resto do mundo.
QUADRO DE INCIDNCIA DE
HOMICDIO TENTADO
NA SUBREA DA 128 CIA PM
NOS ANOS DE 2003 A 2006
Fonte: 128 Cia PM
Marco Antnio Bicalho
298
QUADRO DE INCIDNCIA DE
HOMICDIO CONSUMADO
NA SUBREA DA 128 CIA PM
NOS ANOS DE 2003 A 2006
Fonte: 128 Cia PM
INCIDNCIA DE HOMICDIOS
MDIA MENSAL POR ANO
Fonte: 128 Cia PM
Como se pode verificar nos grficos acima, houve uma queda
gradual e constante dos crimes de homicdio a partir dos anos de 2003 e
2004, perodo em que o Siac passou a ser utilizado e posteriormente
aperfeioado, com a mudana de rotina e tratamento dado s informaes
abstradas dos Boletins de Ocorrncias policiais.
Sistema informatizado de Acompanhamento Crimilnal- SIAC
299
5. PERSPECTIVAS
Com a adoo do sistema pelo Comando de Policiamento da Capital
como poltica de comando para todas a companhias com responsabilidade
territorial de Belo Horizonte, o programa tende a ser aperfeioado e
utilizado em rede, para que todas as companhias da capital possam
compartilhar informaes e nutrir o banco de dados. Dessa forma,
marginais de determinada rea que procurem migrar para outra, ao se
sentirem acuados pelas foras policiais no podero contar com o
anonimato para se homiziarem na nova rea.
Outra possibilidade a utilizao das informaes por parte do
Poder Judicirio para formao de convico no decorrer dos processos
judiciais, o que j vem ocorrendo no que tange aos marginais atuantes na
subrea da 128 Cia PM julgados.
Marco Antnio Bicalho
300
A
R
G
E
N
T
I
N
A
Relato Policial
ANLISE DELITIVA E UTILIZAO DE
FERRAMENTAS PARA A PREVENO DO DELITO
Ruben Adrian Rodrguez
*
Em primeiro lugar e para o desenvolvimento do tema, considero
interessante apresentam alguns fatores que sem dvida vo nos localizar
no tempo e no lugar, para entender a problemtica de delitos desta rea
da provncia de Buenos Aires, na Repblica Argentina, e como o
funcionamento da Chefia do Departamento de Segurana de La Matanza,
dependente do Ministrio de Segurana, lugar onde cumpro funes como
chefe de Operaes h seis anos e como chefe do Centro de
Processamento e Anlise da Informao Delitiva desde a sua criao, em
agosto do ano 2002.
No que se refere Comarca de La Matanza, rea de
Responsabilidade da Chefia Departamental que se encontra localizada na
provncia de Buenos Aires, dentro do setor denominado genericamente
como Grande Buenos Aires, sendo o municpio mais extenso o urbano j
que conta com uma superfcie territorial de 323 quilmetros quadrados,
e possui uma populao que conforme a estimativas oficiais ronda os 2
milhes de habitantes, pese a que segundo o ltimo censo do ano 2001
realizado pelo Indec, La Matanza possui uma populao de 1.255.288
habitantes, sendo que as apresentaes e diferenas surgem diante do
conhecimento de que bairros inteiros no foram includos.
Com relao aos limites da comarca, a noroeste faz limite com a
cidade autnoma de Buenos Aires; a sudoeste com as comarcas de
Cauelas e Marcos Paz; a sudeste com as comarcas de Lomas de Zamora
e Esteban Echeverra e a noroeste com Marcos Paz, Merlo, Morn e Tres
de Febrero.
No concernente rea de responsabilidade da Chefia
Departamental, desde maro do ano de 2005 e dentro das polticas de
descentralizao implementadas pelo Ministrio de Segurana, foram
criadas cinco Chefias Distritais: Noroeste, Nordeste, Oeste, Leste e Sul.
Cada uma delas conta com entre trs e seis dependncias policiais
(delegacias e destacamentos) sob a sua rbita de responsabilidade, pelo
que as 22 Delegacias e cinco destacamentos policiais neste novo sistema
*
Capito da Policia da Provncia de Buenos Aires - Chefia do Departamento de La Matanza.
301
deixaram de depender de forma direta da Chefia Departamental, passando
a ocupar um cargo de coordenao e controle das Chefias de Distrito,
ostentando a Chefia de Delegado (antes Delegado Maior), dependendo
de forma direta de um grupo operativo denominado Grupo de Apoio
Departamental, que conta com 60 efetivos e oito unidades mveis policiais,
que utilizada para efetuar diferentes operativos de saturao, em reforo
do pessoal de delegacias e em servios especiais diagramados desde a
Chefia, conforme a problemtica que se v detectando.
O Chefe de Polcia Departamental, em seu carter de Delegado
Chefe, tem entre outras funes a de coordenar as tarefas com as outras
polcias que convivem no municpio, Direo Departamental de
Investigaes, Direo de Drogas Ilcitas, Direo de Polcia Cientfica,
Delegao de Custdias de Pessoas, Objetivos Fixos e Transferncias de
Detidos, Departamento de Polcia Viria, Chefe do Centro de Despachos
de La Matanza, quem tem a seu cargo o sistema Call Center 911. Cada
uma delas tem uma dependncia direta a uma Superintendncia especfica,
dependendo a Chefia Departamental da Superintendncia de Coordenao
Operativa, sob a rbita da Subsecretaria de Segurana.
Com os Chefes dos organismos mencionados so realizadas reunies
mensais sujeitas a um Protocolo de Avaliao, nas quais tambm participam
os chefes Distritais e os chefes de Dependncia, que conforme as
avaliaes que so realizadas antes da reunio pela Chefia Departamental,
devem explicar alguma questo em particular. Por exemplo, com relao
ao aumento de delitos. Ou de ocorrncias de relevncia pendentes de
esclarecimento, assim como em muitos casos para comentar o sucesso
de alguma investigao ou de algum dispositivo de segurana implementado
que lhe permitiu uma diminuio significativa de delitos, ou seja, so tratados
tanto os maus resultados obtidos, sendo procuradas alternativas no
planejamento de trabalho para melhorar o servio de segurana, assim
como se resgata alguma experincia de sucesso para compartilh-la e ver
a possibilidade de lev-la a efeito em outra jurisdio.
Cada um dos chefes dos elementos mencionados informa ao chefe
de Departamento sobre a tarefa desenvolvida e os resultados obtidos
durante o ms anterior, j que geralmente so registradas estatsticas
comparativas dos ltimos dois meses, relacionando-as com o resto do
ano e igual perodo do ano anterior. Nas mencionadas reunies, em muitas
Ruben Adrian Rodriguez
302
ocasies, tambm participam os integrantes dos Foros Vicinais e Municipais
de Segurana, (cujo funcionamento regido pela Lei 12.154), os quais
do uma viso no to estatstica das questes de delitos de cada jurisdio,
mas, a partir da relao que tm com os vizinhos de cada regio contribuem
tambm todas essas ocorrncias que no so denunciadas e em muitos
casos os motivos disso, sendo tomadas aes neste sentido para reverter
as questes que podem ser apresentadas, alm de outras questes de
mal funcionamento de alguma das dependncias policiais, para que, neste
caso, tanto desde a Chefia de Distrito como, em ltima instncia, a Chefia
Departamental, sejam tomadas as medidas condizentes para fazer cessar
ou reverter a problemtica.
Em relao s cinco Chefias Distritais da Chefia Departamental, as
quais esto a cargo de um inspetor (delegado inspetor antes da nova
denominao de hierarquias) tm como rea de responsabilidade as
seguintes dependncias:
Chefia Distrital Noroeste: Delegacia Noroeste 1: San Justo
Delegacia Noroeste 2: Ramos Meja
Delegacia Noroeste 3: Villa Luzuriaga
Delegacia Noroeste 4: Los Pinos
Delegacia Noroeste 5: Don Bosco
Delegacia Noroeste 6: Lomas de Milln
Delegacia da Mulher.
Chefia Distrital Noroeste: Delegacia Noroeste 1: Villa Madero
Delegacia Noroeste 2: Lomas del Mirador
Delegacia Noroeste 3: La Tablada
Delegacia Noroeste 4: Tapiales
Destacamento Policial Aldo Bonzi
Delegacia Noroeste 5: Mercado Central
Delegacia Noroeste 6: Villa Celina
Chefia Distrital Oeste: Delegacia Oeste 1: Isidro Casanova
Delegacia Oeste 2: San Carlos
Delegacia Oeste 3: Rafael Castillo
Anlise Delitiva e Utilizao de
Ferramentas para a Preveno do Delito
303
Destacamento Feminino
Delegacia Oeste 4: San Alberto
Chefia Distrital Leste: Delegacia Leste 1: Laferrere
Delegacia Leste 2: Altos de Laferrere
Delegacia Leste 3: Ciudad Evita
Chefia Distrital Sul: Delegacia Sul 1: Gonzlez Catan
Destacamento 20 de junho
Delegacia Sul 2: Virrey del Pino
Destacamento Oro Verde
Destacamento Laborato
Delegacia Sul 3: Villa Dorrego
No concernente a fatores de risco real ou potencial, pode-se dizer
que cada distrito apresenta situaes diferentes. Como exemplo citado
o caso da Chefia Distrital Noroeste, cuja caracterstica mais importante
que se trata de uma regio de elevado poder aquisitivo e a de maior
concentrao de entidades bancrias, centros comerciais, estaes frreas,
etc. Por tanto, existe um movimento maior de dinheiro e dentro do
contexto da comarca de La Matanza, este distrito soma a quantidade de
47 entidades bancrias, sobre um total de 63 e vrias entidades financeiras;
estes pontos mencionados seriam os de maior importncia entre outros,
j que estamos falando do movimento de grandes volumes de dinheiro.
Ao mencionado soma-se o fato de a jurisdio da Seo Distrital
Noroeste 1 San Justo resulta ser o Centro Cvico da Comarca, por tanto
onde se concentram instituies como o Palcio Municipal e suas
Dependncias como, por exemplo, a Direo de Trnsito, Direo de Ao
Social, a Policlnica Central, tambm est localizado o Prdio do Poder
Judicial, clnicas privadas, sedes de sindicatos, etc., tudo o que gera o
aumento de pessoas em trnsito veicular e a p, o que serve de cobertura
para aquelas pessoas com condutas mal intencionadas e/ou delitivas.
O fato de ser cabea de comarca e com todas as reparties
mencionadas implica a concentrao assdua de organizaes polticas e
Ruben Adrian Rodriguez
304
outras no polticas que geralmente, por questes sociais e reclamaes,
geram mobilizaes no centro da comarca para se manifestar. Este conflito
social em si repercute no pertinente s diagramaes sobre o servio de
segurana para a preveno que planejado, j que tudo isso demanda
diariamente a utilizao de grandes quantidades de pessoal que, respeitando
as garantias constitucionais, deve zelar pela paz e pela segurana social,
empregando-se um grande dispndio de meios humanos e logsticos em
tarefas que no tm muito a ver com a preveno de delitos.
Do mesmo modo, em escala de importncia e com quase as
mesmas caractersticas mencionadas, segue a Seo Distrital Noroeste
2 Ramos Meja, sendo estas duas jurisdies policiais onde se concentram
a maior quantidade de delitos, o que se observa s ao considerar que
sobre um total de 284 veculos subtrados no ms de setembro do ano
em curso em todo o mbito departamental, 169 ocorreram em jurisdio
da Chefia Distrital de tratamento, ou seja, quase 60% das ocorrncias.
No distrito mencionado, o ndice de pobreza desde San Justo ao
Leste de 20%, enquanto que o ndice de indigncia de 9%, valores
que so refletidos em quase todas as jurisdies policiais que o compem,
enquanto que de Caminho de Cintura ou Rota Provincial N 4 ao Oeste
do territrio ocupado pelas outras quatro distritais a pobreza chega a
75%, enquanto que a indigncia chega a 50%, dados estes obtidos na
apresentao do planejamento estratgico para a descentralizao de La
Matanza em sete mini-municpios;
Diante do exposto, novamente menciono que se destinam recursos
humanos e meios logsticos para a conteno de diferentes reclamaes
sociais, de trabalho, educao, etc., e estes acontecimentos poderiam
ser, em algumas ocasies, detectados e planejados com antecedncia e,
em outras, resolvidos com respostas imediatas.
Para no me estender mais nesta questo de ordem organizativa
interna, La Matanza, conforme o Plano Diretor de Segurana, em vigncia
h mais de dois anos, encontra-se dividida em 80 quadrculas,
correspondendo a cada delegacia entre trs e seis quadrculas, o que,
luz dos resultados que se vm obtendo em algumas regies, resultam
demasiado extensas, o que se observa somente levando em considerao
que conforme a anlise de delitos e o perfil que se realizou oportunamente
Anlise Delitiva e Utilizao de
Ferramentas para a Preveno do Delito
305
em cada regio, estas foram diagramadas, ficando 75 delas com superfcies
que vo de um a trs quilmetros quadrados e as cinco restantes de 10 a
30 quilmetros quadrados, correspondendo estas ltimas s localidades
de Gonzlez Catan e Virrey del Pino, as quais possuem reas suburbanas.
Sem dvida, para a conformao das mencionadas quadrculas
tambm foi necessrio levar em considerao a disposio de pessoal e
meios, j que o Plano consiste em que cada uma delas se encontre coberta
durante as 24 horas. Minimamente, com uma unidade mvel policial, de
acordo com a problemtica existente, o que significa em nmeros contar
com 80 unidades mveis policiais e 160 efetivos por turno, se
considerado que a dotao de cada patrulha de dois efetivos.
A Chefia Departamental conta na data com 1820 efetivos. Na
mencionada quantidade esto includos aqueles que se encontram gozando
de licena anual por gratificao, licenas mdicas, cursos de re-
treinamentos, desviados de servio com tarefas administrativas, e outras
questes que fazem diminuir consideravelmente o nmero de efetivos que
cumprem exclusivas tarefas de preveno. No obstante, levando em
considerao a totalidade de pessoal a RELAO POLCIA PARA CADA
1000 HABITANTES de 0.91 e levando em considerao a superfcie
territorial de 5.63 EFETIVOS POR QUILMETRO QUADRADO.
No referente a unidades de patrulha, conta-se com 240 veculos,
dos quais em condies de uso e funcionamento 190, o resto devido ao
desgaste prprio do uso se encontram radiados de servio e em
reparao.
Todos estes fatores condicionaram a possibilidade de aumentar a
quantidade de quadrculas e conseguir criar setores de jurisdies em
superfcies menores. Entretanto, o mencionado no significa que as
quadrculas mais extensas sejam aquelas onde se cometem maior
quantidade de delitos, pelo contrrio, nas quadrculas menores,
coincidentes estas com grandes centros comerciais, grande quantidade
de entidades bancrias e financeiras, reas de maior poder aquisitivo, etc.,
so as mais castigadas quando se fala de delitos denunciados.
Na valorao estatstica se trabalha sobre delitos denunciados, que
so divididos em dois grupos, por um lado os DELITOS QUE PODEM
Ruben Adrian Rodriguez
306
SER PREVENIDOS (homicdios, assaltos, roubos, furtos, violaes, piratas
do asfalto, subtrao de automveis e de animais quadrpedes) e pelo
outro, os DELITOS NO PASSVEIS DE PREVENO, onde envolvido
todo o resto dos delitos que de alguma forma a polcia no tem mediante
tarefas preventivas forma de contra-arrestar as ocorrncias (ameaas,
leses culposas, usurpao de propriedade, fugas de lar, acidentes de
trnsito com feridos, etc.), tudo isso sem deixar de considerar a grande
quantidade de ocorrncias que conformam o que se denomina comumente
a cifra negra do delito, fatos que so cometidos diariamente e que por
diferentes questes, que neste momento no so motivo de anlise, no
so denunciadas, mas so tomadas como parmetros das ocorrncias de
HOMICDIO, onde sem dvida a polcia toma conhecimento e interveno,
e a SUBTRAO DE AUTOMVEIS, nas modalidades de FURTO
AUTOMOTOR (os delinqentes subtraem o veculo estacionado sem
ocupantes na via pblica) e ROUBO AUTOMOTOR ( considerado dentro
deste tipo, no qual mediante o uso da fora fsica ou ameaa com armas
brancas ou de fogo subtraem a unidade), neste caso ou tipo de delito
tem-se a certeza da denncia por questes que vo desde a cobrana do
seguro at a recuperao do automvel. A respeito do HOMICDIO faz-
se um desdobramento na anlise, levando em considerao principalmente
o HOMICDIO EM OCASIO DE ROUBO, j que de uma mdia durante
o ano de 2006 de oito homicdios mensais, um ou dois so em ocasio de
roubo, o resto so o resultado de confrontaes familiares, disputas entre
amigos ou vizinhos, e os denominados acertos de conta entre grupos
antagnicos, ocorrendo o mesmo com o delito de VIOLAO, onde
feita uma anlise diferenciando aqueles que ocorrem no seio familiar ou de
amizades e aqueles que ocorrem em via pblica, onde a vtima geralmente
caminha cedo em direo de algum ponto de nibus para ir ao trabalho
ou para estudar, ou regressa tarde da noite e aproveitando o isolamento
reinante, atacada por algum indivduo, j que nesses momentos aumentam
os riscos, sendo destacado que varia o nmero de denncias ms a ms,
j que por exemplo no ms de maro do ano em curso foram denunciados
trs fatos, cinco em abril, 18 em julho, 10 em agosto. Das quantidades
mencionadas mais de 50% se d no seio familiar, tendo a ver isso
seguramente com questes sociais, culturais e econmicas e a grande
quantidade (h mais de 100 bairros carentes e assentamentos).
O caso que vou expor durante o curso indica justamente, diante da
Anlise Delitiva e Utilizao de
Ferramentas para a Preveno do Delito
307
realidade que se vive nesta parte da provncia de Buenos Aires, mediante
o uso de ferramentas tecnolgicas, que tipo de anlises so realizadas
com a elaborao de mapas temticos, que iro determinar um ponto no
espao, o que geo-referencia um delito, o que tem a ver com pontos
quentes (agrupamento de vrios delitos no mesmo lugar), zonas quentes
(agrupamento de vrios pontos ou delitos), delitos por quadra, por faixas
de horrios, por dias da semana, etc. e no que se refere a uma
problemtica que afeta em grande parte ao departametno de La Matanza,
que a subtrao de veculos, diferentes experincias vm sendo aplicadas.
E apresentao de um trabalho de anlise e operacional colocado em
prtica durante o ano de 2003, onde nos primeiros meses do ano e at a
efetivao do operao se estava cometendo a subtrao de quase 800
veculos mensalmente e, mediante o planejamento e colocao em
funcionamento de um operativo de preveno em dois meses se conseguiu
reduzir os mencionados ndices para 420 veculos, em julho do ano
mencionado, ocorrendo isto em um dos momentos mais crticos de
insegurana na provncia de Buenos Aires, j que acompanhado da subtrao
dos veculos em muitos casos de produzia a morte de alguma pessoa.
Inclusive em muitas das ocorrncias a pessoa falecida resultava ser
integrante de alguma fora de segurana que estando livre de servio e
vestindo roupas de civil era abordada por delinqentes para lhe subtrarem
o veculo e diante da resistncia do efetivo ou quando os delinqentes se
davam conta de sua qualidade de tal sem mediar palavra eram agredidos
com disparos de arma de fogo que em vrias ocasies lhe ocasionavam a
morte, s resta mencionar que durante esse ano foram quase 40 efetivos
policiais da provncia de Buenos Aires mortos em enfrentamentos armados,
muitos acompanhando a baixa de delitos de subtrao de veculos. Tambm
se produziu uma forte diminuio dos delitos de homicdios em ocasio
de roubo, sendo observado tambm como a partir da saturao policial
em determinada rea, o delito se transferia a outras reas que antes eram
menos afetadas, o que refletia que s com maior quantidade de policiais
nas ruas no se garante a segurana, j que ,como se sabe, existem outros
fatores que influenciam nesta problemtica em que nos corresponde nos
desenvolvermos.
A partir do ms de agosto desse mesmo ano foi sancionada a Lei
13.081 que regula o comrcio de peas de automveis usadas, agncias
de venda de automveis novos e usados, oficinas mecnicas, agncias de
vans, tapearia de automveis, estacionamentos, e qualquer outro
Ruben Adrian Rodriguez
308
comrcio que se vincule aos automveis, os quais deveram ser registrados
perante a delegacia da jurisdio e habilitar um livro, no qual se registram
os controles que em um prazo que no supere os 20 dias devem ser
inspecionados. Ou seja, tm minimamente um controle mensal e a falta de
habilitao ou perante irregularidades constatadas, a polcia se encontra
facultada para a priso, sendo a autoridade de aplicao o Ministrio de
Segurana da Provncia de Buenos Aires, onde foi gerada uma dependncia
denominada Direo Provincial Fiscalizadora do Registro de Controle e
Comrcio Vinculados Atividade de Automvel.
A modo de ilustrao deixa-se constncia de que na data se
encontram registrados perante a polcia 1.100 estabelecimentos
comerciais nesta comarca. A mencionada situao permitiu que fosse
fechada uma grande quantidade de desmanches, oficinas mecnicas, e
outros comrcios nos quais se desenvolviam atividades ilcitas, o que gerou
uma diminuio significativa em toda a provncia de Buenos Aires, na qual
no esteve alheia a Chefia Departamental, que dos quase 800 veculos
mensais que se subtraam, no ms de fevereiro do ano em curso se chegou
ao nmero de 213, esclarecendo que no momento invocado nas
jurisdies de San Justo e Ramos Meja se tinha uma mdia de 180 veculos
em cada jurisdio, o que a partir de um trabalho de anlise, com um
diagnstico apropriado e uma boa administrao dos recursos humanos
e logsticos, se conseguiu reduzir.
As mesmas ferramentas a partir de estudos de padres e
comportamentos extrados da base de dados onde se colocam a totalidade
de delitos do mbito jurisdicional nos permitiu trabalhar em funo de
outro tipo de fatos, e realizar uma melhor administrao dos recursos no
momento da tomada de deciso, e como exemplo se apresentam em
PowerPoint trabalhos realizados sobre a subtrao de automveis,
violaes, drogas, etc. que, por razes tcnicas, no so anexados.
Anlise Delitiva e Utilizao de
Ferramentas para a Preveno do Delito
309
A
R
G
E
N
T
I
N
A
Relato Policial
PLANEJAMENTO OPERACIONAL: A EXPERINCIA
NEUQUINA
Rubens Fabian Rebuffo
*
SITUAO DA PROVNCIA DE NEUQUN
Em primeiro lugar nos localizaremos espacialmente. A experincia
qual me referirei se desenvolve na provncia de neuqun, que est
geograficamente localizada a Noroeste da Patagnia Argentina. A cidade
onde pontualmente realizada esta experincia a de Neuqun, capital
da provncia de mesmo nome.
A provncia tem uma populao aproximada de 600 mil habitantes,
dos quais um pouco mais de 200 mil residem na capital, sendo esta a
cidade com maior densidade populacional da provncia.
A realidade socioeconmica variada, tanto dentro da provncia
como na prpria capital. Tem uma economia dominada pela extrao de
petrleo, gs e com a grande quantidade de atividades satlites que se
movem entorno desta explorao. Possui reas de produo de frutas
em crescimento, do mesmo modo que alguns empreendimentos
tursticos com grandes expectativas em um futuro prximo.
Esta diversidade de atividades econmicas traz uma diversidade
similar na trama social, interagindo nesta esto desde profissionais
ocupando altos cargos em empresas multinacionais at trabalhadores
subempregados com remuneraes somente por cima da linha de
pobreza. No devemos deixar de considerar que na provncia h quase
7 % de desocupao.
Esta provncia, em especial a sua capital, a receptora de uma
grande migrao interna, proveniente de provncias argentinas,
principalmente as fronteirias, somando-se, alm disso, a Repblica do
Chile. Pessoas estas que se vem atradas pelas altas remuneraes que
em ocasies oferece a atividade petroleira, e migram em sua maioria
para a cidade de Neuqun em busca de um novo e melhor horizonte
que o que vislumbravam em seus lugares de origem. Estas expectativas
em muitos casos no so alcanadas e, por isso, estas famlias terminam
*
Oficial Principal da Polcia de Neuqun; Formado em Sistema de Segurana em Telecomunicao
(I.U.P.F.A); Ps-graduao em Metodologia de Investigao (U.N.C.)
310
vivendo amontoadas em um assentamento ilegal, comumente conhecido
como toma, na periferia da cidade, e recebendo ajuda social para poder
subsistir.
Em muitas ocasies, o panorama descrito no pargrafo anterior
determinante e funciona como uma situao propcia para que se
desenvolvam diversas atividades delituosas, principalmente as que causam
danos propriedade.
PANORAMA DE DELITOS DA PROVNCIA
Ainda que tenhamos descrito que a situao socioeconmica tem,
em muitos casos, incidncia no desenvolvimento do delito na cidade de
Neuqun, este no o nico fator causal para que se desdobrem atividades
delituosas na cidade.
Outro dos fatores que agiu como propulsores da ocorrncia dos
delitos contra a propriedade o que outorga o bom nvel econmico de
muitos dos habitantes da capital, o que seduz delinqentes forasteiros e
os incentiva a realizarem as suas atividades dentro da jurisdio de Neuqun.
Podemos citar aqui o caso da provncia vizinha de Ro Negro, com uma
situao econmica muito mais precria que a de Neuqun. No raro
ver que parte da migrao interprovincial a que nos referamos no item
anterior, desembarque na provncia de Neuqun com o nico objetivo de
cometer atos ilcitos. Para uma melhor compreenso esclarecemos que a
Provncia de Rio Negro e a de Neuqun esto unidas por uma ponte para
trnsito de veculos
1
, pela qual com somente andar uns poucos quilmetros
cruzamos de uma provncia outra.
Referindo-nos s modalidades delitivas que mais observamos na
cidade de Neuqun, podemos dizer que os Delitos Contra a Propriedade
so os que com maior freqncia so suscitados, segundo a estatstica de
delitos denunciados no ano de 2005, 79,5%: corresponde aos delitos
contra a propriedade, ficando 19,5% para o resto das modalidades.
Dentro do tipo de delito majoritrio mencionado anteriormente,
45% corresponde a furto, 40% a roubo, 12% a dano contra a
propriedade particular, e o resto dividido entre outras tipificaes dos
delitos contra a propriedade.
Planejamento Operacional: a Experincia Neuquina
311
Se transferirmos a porcentagem para a quantidade numrica de fatos
denunciados no ano de 2005, no mbito da Direo de Segurana de
Neuqun
2
, temos que 45% correspondem a furto, o que significa um total
de 7.381 ocorrncias denunciadas, 40% a 6.560 ocorrncias e 12% a 1.948
ocorrncias, formando um total de 15.889 fatos contra a propriedade na
D.S.N.
Mantendo-nos sempre na modalidade do delito contra a propriedade,
nos ltimos anos, foi aumentando o desenvolvimento deste tipo de
ocorrncia, mas com maior violncia e dio, situao esta que se d nos
roubos. Para dar um exemplo, em moradias onde se perpetrara o ilcito na
ausncia de seus moradores, alm de subtrair os elementos escolhidos,
eram produzidos danos nos elementos que no eram levados, ou na prpria
moradia, chegando, em alguns casos, inclusive a incendi-la.
Este tipo de comportamento, na maioria dos casos s atribuvel a
uma pessoa que se encontra sob os efeitos de drogas ou com as faculdades
mentais alteradas pelo consumo de lcool.
Poderamos atribuir como fator desencadeador da situao antes
apresentada, que a cidade de Neuqun deixou de ser uma cidade de trnsito
para ser na atualidade um ponto de consumo e comrcio de drogas proibidas,
tendo um grande nmero de viciados em drogas, especialmente na faixa
etria integrada por jovens que vo dos 15 aos 25 anos.
Esta violncia, desmesurada em alguns fatos, se v agravada pelo uso
de armas de fogo. Aqui o panorama se complica, j que um jovem
inexperiente, sob o efeito estimulante de alguma droga, com uma arma de
fogo e cometendo um roubo, pode terminar como j ocorreu com algum
dos atores no ocorrido: morto.
Realmente, no ajuda a esta situao, a facilidade com que se pode
conseguir uma arma na rua. Alm disso, se somamos a isso a falta de
uma poltica de controle de armas de fogo no mbito provincial, o
panorama piora.
Tudo que foi anteriormente mencionado contribui para que a
modalidade do roubo agravado pelo uso de armas de fogo, comumente
denominado roubo com arma, tenha ganho um grande protagonismo dentro
da realidade social atual.
Rubens Fabian Rebuffo
312
Este tipo de delitos violentos contra a propriedade so os que geram
uma crescente sensao de insegurana na populao, j que os alvos
preferidos deste flagelo, pela rpida disponibilidade de dinheiro em espcie,
so os comerciantes. Por esta particularidade, a ocorrncia do fato
delituoso se transmite entre os vizinhos do lugar, gerando uma psicose na
vizinhana, que em ocasies aumentada pela influncia dos meios de
comunicao de massas. Isto ocorre, principalmente, quando o fato
envolve personagens ou comrcios de renome dentro da realidade social
de Neuqun
3
.
APRESENTAO DA PROBLEMTICA
No ano de 2005, foram denunciados na jurisdio da Direo de
Segurana de Neuqun um total de 850 roubos com arma, isto nos d
uma mdia de mais de duas ocorrncias por dia.
Agora consideremos dentro da realidade de Neuqun uma situao
pontual, ocorrida dentro do mbito da Direo de Segurana de Neuqun.
No mesmo ano da jurisdio correspondente Delegacia 1 foram
denunciados 3.736 delitos contra a propriedade em suas diferentes
modalidades.
No incio de 2006 , mudou a chefia desta Unidade de Ordem
Pblica, chegando a ela um novo chefe departamental proveniente de
outra unidade com caractersticas diferentes, o delegado certamente no
desconhecia a realidade desta jurisdio.
Uma vez que se encontrava exercendo a sua nova chefia, e tendo
acesso s estatsticas de delitos do que ali sucedia, tomou conhecimento
de uma realidade mais detalhada de sua nova jurisdio.
Agora, o fato de conhecer as cifras do delito lhe daria uma viso
global do problema que enfrentava, mas isto no suficiente para realizar
um planejamento estratgico de seu plano de ao. Restavam as seguintes
perguntas: onde estavam as reas quentes
4
da jurisdio? As reas eram
fixas ou experimentavam uma mudana? Em quais horrios e dias da semana
era mais comum que se desenvolvesse a atividade delitiva? Em resumo,
como instrumentaria a preveno?
Planejamento Operacional: a Experincia Neuquina
313
Estas perguntas sem resposta no so propriedade exclusiva da
Jurisdio da Delegacia 1, mas eram apresentadas por todos os Chefes
de Unidades de capitais. As realidades das diferentes Unidades de Ordem
Pblica podem ser diferentes, mas a falta de informao sobre os
pormenores da atividade delituosa uma constante em todas as jurisdies.
Justamente esta falta de informao detalhada o problema, no se
pode pilotar um barco se no se enxerga para onde se est indo. Nenhuma
poltica de segurana ter bons resultados se no se sabe como evolui e
muito menos se no pode ser avaliada, mas para isto necessria a
informao diria e detalhada do que est ocorrendo na rua.
REDE INTERNA DE DEPARTAMENTOS
Ainda que o problema apresentado no ponto anterior no fosse
desconhecido para as unidades de Investigaes, o projeto ao qual nos
referiremos no nasceu para dar soluo a esta situao.
A experincia nasceu no mbito da Superintendncia de Investigao
5
,
para cobrir uma necessidade interna.
Sob a chefia do comissrio inspetor juan carlos lepen, nesse
momento diretor de Delitos (atualmente delegado geral Superintendente
de Investigaes), se comeou a trabalhar em um mapeamento de delitos,
e se buscava, principalmente, consignar a localizao, o horrio, e o tipo
de ocorrncias para poder compensar justamente a falta de informao
atualizada e sistematizada que padeciam os cinco departamentos
dependentes de sua direo: o Departamento Subtrao de Automotores,
o Departamento de Toxicomanias, o Departamento de Delitos contra a
Propriedade e Leis Especiais, o Departamento de Delitos Econmicos e
o Departamento de Segurana Pessoal; todas as unidades operativas de
investigaes, cada uma delas especializada em um tipo de delito especfico.
Neste ponto, podemos fazer um paralelo entre a problemtica, com
relao falta de informao atualizada e sistematizada, que tinha uma
Unidade de linha (Delegacia) e um dos Departamentos de Investigaes.
Este problema gera, no obstante, um desperdcio maior de recursos
Rubens Fabian Rebuffo
314
para um Departamento de Investigaes que para uma delegacia, agora
trataremos de entender esta situao.
Para seguir com o mesmo exemplo, o da Delegacia 1, esta tem uma
jurisdio claramente delimitada, dentro da qual essa unidade a responsvel
pelo que ali acontece, e nenhuma outra unidade jurisdicional, por exemplo,
a Delegacia 2 vai operar dentro da Jurisdio da 1. Esta situao territorial
nos assegura que no vai haver duplicao de tarefas, ou falta de coordenao
em alguma ao que se desenvolva na Jurisdio.
No entanto, com os Departamentos de Investigao esta situao
de superposio de tarefas ou falta de organizao poderia ocorrer e,
de fato, em muitos casos ocorre. Explicaremos isso com um simples
exemplo para que a situao apresentada seja mais bem entendida; no
algo desconhecido que as modalidades de delitos se cruzam entre si,
que um carro roubado seja pago a seu levantador
6
com drogas; isso
no nada novo ou raro de encontrar. Neste caso interviriam os
Departamentos de Roubo de Automveis e de Toxicomanias.
Esta situao gerada, pois, diferentemente de uma delegacia,
um Departamento de Investigaes no tem jurisdio, trabalha em todo
o mbito territorial da provncia.
Pois bem, continuemos com o mesmo caso hipottico; o
Departamento de Automotores investiga o ladro e o comprador, j
que lhe compete a represso desta atividade delitiva relacionada ao roubo
e ao desmanche ilegal de automveis. A investigao montada em torno
de estes dois delinqentes necessita de meios humanos e tcnicos,
recursos que todos sabemos que so escassos.
Ocorre que o Departamento de Toxicomanias tambm est
investigando estes dois indivduos, j que em diferentes escalas ambos
esto comercializando e distribuindo entorpecentes. Os meios humanos
e materiais requeridos para esta investigao so agora disponibilizados
pelo Departamento de Toxicomanias.
Aqui onde so duplicados os esforos e so desperdiados
recursos, com o agravante de que, em muitos casos, esta falta de
coordenao delata uma ou ambas as investigaes, jogando fora talvez
Planejamento Operacional: a Experincia Neuquina
meses de trabalho.
315
A soluo que foi pensada para terminar com esta falta de processo
na informao, foi a de interligar os cinco departamentos por meio de
uma rede informtica, que contaria com um servidor onde se classificaria
e armazenaria a informao. A implementao tcnica desta ferramenta
no era demasiado complicada, j que quatro dos cinco departamentos
se encontravam dentro de um mesmo quarteiro postal, e o quinto
departamento seria vinculado atravs de uma conexo sem fio. Seriam
necessrios cinco computadores que cumpririam a funo de terminal e
o servidor central de dados que antes mencionamos. Como vemos, a
implementao no requereria grandes investimentos econmicos.
Quanto ao software, foi utilizada uma plataforma G.I.S.
7
, dado que
esta soluo nos permitia no s armazenar a informao em bases de
dados, mas tambm geo-referenci-la em um ponto do mapa, ou seja,
dar ao roubo uma coordenada espacial.
Como j sabemos, para que se desenvolva a ocorrncia de um
delito, os delinqentes e seus objetivos, j sejam as vtimas ou as suas
propriedades, devem coexistir por um perodo na mesma localizao.
Este componente temporal-espacial essencialmente informao
e neste caso a mais importante, o quando e onde ocorreu o fato. A este
dado deveremos acrescentar toda outra informao perifrica que
podamos coletar, tudo isto nos ajudar mais tarde a realizar uma anlise
indispensvel para que a investigao tenha sucesso.
Como vemos, ter esta ferramenta sem contar com a informao
para processar e analisar resultaria intil, j que no teramos a matria
prima, e sem ela nunca conseguiramos um produto final.
O inconveniente nos apresentado nesta etapa, na captura da
informao para o seu processo. Em uma primeira instncia, realizada
a carga de dados de forma manual, conseguindo a informao dos fatos
ocorridos na semana, e desta forma a informao estava atrasada quase
uma semana.
Este si stema comeou a ser uti l i zado nos di ferentes
Departamentos de Investigaes, no s pelo componente grfico que
dava o mapeamento para a anlise, mas tambm pela contribuio de
informao em si, que, ao ser colocada no sistema, era selecionada e por
Rubens Fabian Rebuffo
316
tanto processada. Deste modo, a informao muito mais til e operacional
para a sua utilizao.
Este sistema comeou a ter transcendncia dentro da Fora, pelo que
muitos oficiais, chefes e superiores comearam a se interessar por ele.
Apesar de seu atraso de quase uma semana, alguns chefes de unidade
comearam a solicitar, em forma de colaborao, que lhes fosse realizado um
diagnstico de sua jurisdio, e em muitos casos isso lhes ajudou a fazer
uma reintegrao de seu sistema de preveno. Recordemos que as delegacias
esto sob a chefia de uma superintendncia diferente da de Investigaes, a
de Segurana, e que esta ferramenta de anlise tinha sido criada para ser
utilizada em unidades dependentes da Superintendncia de Investigaes.
Como alternativa, e para erradicar a carga manual de dados, se comeou
a trabalhar no desenvolvimento de um sistema para poder capturar a
informao do fato delituoso, diretamente desde a unidade Policial. Em um
primeiro momento se pensou nos cinco departamentos, depois se comeou
a considerar a incluso das delegacias.
O sistema consistia em capturar o registro da denncia da ocorrncia
que vinha a radicar o cidado para a delegacia de sua jurisdio, da qual se
extrairiam os campos com os dados mais importantes para realizar uma
investigao, como horrios, armas, meios de mobilidade, caractersticas fsicas
dos delinqentes, etc.
Esta denncia seria feita on-line e lhe facilitaria ao oficial de Servio o
trabalho j que estaria utilizando um sistema padronizado, que lhe diria passo
a passo quais so as perguntas mais importantes a apresentar vtima, segundo
o fato delituoso que viesse denunciar.
Assim foi como a notcia sobre a existncia desta ferramenta chegou
ao mbito governamental, e o ento Ministro de Segurana se interessou pela
mesma.
Uma vez que se observou o seu funcionamento, decidiu-se que
o desenvolvimento se estendia no s s Unidades de Investigaes,
mas a todas as Unidades Policiais da rea da capital em uma primeira
etapa, para logo estend-lo a toda a provncia.
Planejamento Operacional: a Experincia Neuquina
317
Foi a parti r de ento que se comeou a trabal har no
desenvolvimento do sistema para aperfeioar o registro da denncia
on-line, com a conseguinte captura de informao indispensvel para a
investigao.
Aqui o novo inconveniente se apresentava na necessidade de
comunicar mediante algum sistema os 22 pontos dispersos na geografia
da capital, correspondentes s diferentes Unidades de Ordem Pblica.
Tempos depois, a polcia de Neuqun adquiriu um novo sistema
de comunicaes baseado no Trunking Digital, e comeou a instalao
e implementao deste sistema na capital de Neuqun. Este novo
sistema nos ofereceria a soluo para obter a comunicao necessria
de todas as Unidades Policiais, conseguindo assim o funcionamento
em paralelo do mapeamento de delitos e a denncia on-line.
Atualmente, o desenvolvimento informtico j est muito
avanado e se est realizando uma prova operativa com a Delegacia
1, graas a uma situao geogrfica, dada pela proximidade da mesma
localizao da Superintendncia de Investigaes, foi realizada uma
vinculao fsica entre ambas as Unidades atravs de cabo de rede.
Mesmo que esta vinculao seja muito recente para avaliar
resul tados, se espera que estes sej am posi ti vos, si tuao que
seguramente melhorar quando termine de ser implementado na capital
o sistema Trunking, o qual possibilitar com a interconexo das Unidades
a coleta da totalidade da informao acerca dos fatos ocorridos em
Neuqun Capital, sendo projetado em um futuro estender esta situao
a toda a provncia.
Notas
1
Neuqun-Cipolletti, ambas as cidades conformam a primeira rea metropolitana da Patagnia,
separadas pelo rio Neuqun, mas unidas por uma ponte viria e outra ferroviria. Cipolletti,
pertenecente provncia de Ro Negro, tem agroindstrias e usinas frigorficas. Neuqun possui
indstrias diversificadas e um importante centro comercial. Ambas esto ligadas pela estrada
nacional 22 e pelo corredor ferrovirio de Ferrosur Roca S.A
2
Diviso Jurisdicional realizada pela Polcia de Neuqun, integrada pela totalidade da cidade
de Neuqun Capital, juntamente com as cidades de Centenario, Plottier e El Chaar, que se
encontram geograficamente prximas da Capital. Por suas siglas D.S.N.
3
Podemos citar como exemplo, para ilustrar esta situao, o desaparecimento do comerciante
Julio Venegas em 06/10/2006, um fato que teve uma grande difuso jornalstica desde o segundo
Rubens Fabian Rebuffo
318
dia de ocorrncia da mesma, suspeitando-se que seu desaparecimento foi desencadeado a partir
de um roubo, j que desapareceu juntamente com seu veculo. Na data, nem Venegas nem o
veculo utilitrio no qual se deslocava foram encontrados.
4
rea geogrfica que apresenta um nvel de delitos ou desordem mais elevado que a mdia da
Jurisdio.
5
A Superintendncia de Investigaes uma das trs superintendncias que conformam o
organograma da polcia de Neuqun, as outras duas so a Superintendncia de Segurana e a
Superintendncia de Apoio e Servios.
6
Nome com o qual conhecido no ambiente delituoso a pessoa que se dedica especificamente
a roubar o veculo. Geralmente so jovens, e o nico que fazem roub-lo e conduzi-lo at o
comprador, que paga um preo insignificante em comparao ao valor do veculo.
7
Por suas siglas em ingls Sistemas de Informao Geogrfica
Planejamento Operacional: a Experincia Neuquina
319
V
E
N
E
Z
U
E
L
A
Relato Policial
A APLICAO DE ESTRATGIAS SIMILARES DE
SEGURANA EM DUAS REAS COM RESULTADOS
DIFERENTES
Luis Alberto Pacheco
*
Gostaria de tratar, neste trabalho, da utilizao de tticas preventivas
implementadas em duas reas policiais diferentes, mas no mesmo estado,
que geraram resultados diferentes. Trata-se das comunidades de La Morita
e Tejeras do Estado de Aragua.
De um modo geral, ao comear a dirigir uma delegacia policial, o
oficial que a administra deve conhecer a problemtica de delitos da rea,
as caractersticas da populao e a geografia que a configura, a fim de criar
planos e estratgias de segurana de acordo com as necessidades requeridas
pela comunidade, sempre sujeitas ao cumprimento do marco legal e
respeitando os princpios que regem os direitos humanos.
La Morita uma comunidade localizada ao leste da cidade de Maracay,
dentro do municpio de Francisco Linares Alcntara, com 32.321 habitantes,
segundo o ltimo censo do ano de 1991, e com uma superfcie de 9,8
Quilmetro quadrados. Com o tempo, esta comunidade se converteu e
uma rea urbana, ainda que persistam alguns assentamentos agrcolas de
plantaes de mandioca e banana. Passa, pelo povoado, uma importante
artria viria, a auto-estrada Regional do Centro, uma das principais vias do
pas para o transporte de matria prima de muitas empresas.
Existem vrias agncias bancrias, centros comerciais e grandes
lojas de departamentos. Na regio tambm nasceram alguns bairros por
invases de terrenos baldios. A produo desta rea est distribuda em
todos os nveis (primrio, secundrio e tercirio), a economia existente
formal e informal, o que denota diariamente constante mobilizao de
dinheiro em todos os nveis. As pessoas foram muito participativas e
estiveram dispostas a desenvolver programas e atividades comunitrias
que favoreciam o bem comum. Os polticos no utilizaram a polcia como
um instrumento de poder, pelo contrrio, deixavam-se assessorar e era a
*
Subcomissrio do Corpo de Segurana e Ordem Pblica do estado de Aragua, chefe da Comisaria
policial de Magdaleno.
polcia que orientava as polticas de segurana pblica.
320
Tejeras, por sua vez, est localizada na rea oeste do estado de
Aragua. Tem uma populao de 34.084 habitantes e uma superfcie de
112 Quilmetros quadrados. Faz limite com o estado de Miranda ao norte,
com El Concejo ao sul, com a auto-estrada Regional do Centro ao leste e,
ao oeste, com o estado de Miranda. Tejeras considerada uma cidade
industrial j que ali se encontra uma grande parte das usinas de
processamento de matria prima e seu relevo montanhoso. Est mais
distante da capital e uma ponte de acesso entre os estados de Aragua e
Miranda, o que permite que os delinqentes escapem facilmente das
autoridades estatais. Mesmo sendo Tejeras uma regio agroindustrial, no
denota muita mobilizao de dinheiro como em La Morita, pois s h
trs agncias bancrias que so somente sucursais. As pessoas no tiveram
muita disposio para participar dos assuntos que a todos correspondem
e os polticos utilizaram a polcia como um instrumento de poder.
Os problemas mais graves tanto em La Morita quanto em Tejeras
eram a escassa presena policial naqueles setores no asfaltados e poucos
servios pblicos, alm do patrulhamento nulo nas comunidades com becos
e caladas, bem como nas reas comerciais. A maior quantidade de delitos
ocorria nos colgios, dentro das instalaes e em torno das mesmas,
entre os quais podem ser citados: a) roubos (com armas de fogo, armas
brancas), b) venda e distribuio de substncias entorpecentes e
psicotrpicas, c) leses, d) enfrentamentos entre faces, e) furto de
veculos, f) violncia familiar, g) porte ilcito de armas e distribuio ilegal.
As pessoas tinham medo de fazer denncias junto s instituies policiais
por temor de que a informao vazasse e tambm pelo alto ndice de
maus-tratos por parte de alguns funcionrios aos moradores da regio.
As reas montanhosas de Tejeras eram usadas, freqentemente, como
local de liberao de cadveres.
Quando fui designado como chefe da delegacia policial tanto de La
Morita como de Tejeras, comecei fazendo: 1) um estudo sobre a jurisdio
da rea, 2) uma pesquisa, tipo sondagem sobre as solicitaes das
comunidades na rea de segurana e 3) uma reviso das denncias efetuadas
pelos particulares na delegacia para medir: a) os tipos mais freqentes de
delitos, b) a recorrncia das denncias, c) os lugares de maior auge delitivo
e d) os nveis de confiabilidade das pessoas com relao polcia. Os
resultados produzem oito denncias por ms e somente duas haviam sido
solucionadas mediante atos conciliatrios. O resto das denncias no refletia
Aplicao de estratgias similares de Segurana em
duas reas com diferentes resultados
321
nenhuma medida tomada. A informao fornecida pelas pessoas, na pesquisa,
refletia uma cifra de aproximadamente 80% de vitimizao. Era evidente
que as pessoas no confiavam na polcia e portanto no denunciava.
Os propsitos em ambos os casos foram:
1. alcanar a diminuio de pelo menos 30% dos delitos
cometidos na rea policial entre os quais podemos
mencionar: a organizao de faces armadas, a venda
e distribuio de drogas, especialmente nos grupos
educativos, o seqestro de veculos e o roubo de
estabelecimentos comerciais;
2. aumentar a confiana da populao na polcia para
diminuir o nvel de vitimizao;
3. promover os valores institucionais da polcia como
a honestidade, a responsabilidade, o respeito pelos
direitos humanos.
As estratgias implementadas em ambos os casos se concentraram
nas exigncias da comunidade em matria de segurana pblica. Algumas
estratgias estiveram orientadas para a polcia para melhorar a eficincia
no servio e outras para a comunidade, para garantir segurana e aumentar
os nveis de confiana.
As estratgias internas em ambos os casos foram as seguintes:
- reconstruir a memria institucional da polcia para
resgatar o esprito corporativo;
- reconhecer os mritos dos funcionrios e funcionrias
segundo as boas prticas policiais no ms;
- desenhar um plano educativo para melhorar as prticas
policiais e o tratamento com o pblico, levando em
considerao os princpios de atuao policial e o
cdigo de conduta para funcionrios encarregados de
cumprir e fazer cumprir a lei;
- organizao da seo de operaes e criao de
estatsticas para o planejamento de dispositivos de
segurana.
Luis Alberto Pacheco
322
As estratgias externas em ambos os casos foram as seguintes:
- setorizao da regio para o patrulhamento contnuo;
- coordenar conjuntamente com os lderes da
comunidade, um plano de ao para o patrulhamento
segundo as necessidades indicadas por estes;
- criao do patrulhamento motorizado na rea
comercial com mecanismos de superviso, onde os
comerciantes participam;
- fazer um censo das motocicletas que circulavam na
rea policial;
- a criao da brigada ciclstica para patrulhar os
caminhos estreitos;
- a criao da brigada juvenil integrada por crianas e
adolescentes da regio policial, com o fim de orient-
los no exerccio da cidadania;
- reunies peridicas com os mais diversos setores da
vida local e com os Conselhos Comunitrios para
detectar as necessidades sobre segurana pblica e
desenhar as estratgias conjuntamente;
- a organizao de eventos esportivos e culturais com
os jovens de diferentes escolas da regio educativa para
diminuir os nveis de violncia juvenil; maratonas,
futebol, concursos de cartazes, exposies com temas
histricos, desfiles;
- desenho de operaes conjuntas com outras
instituies do Estado e do sistema de administrao
de justia para a superviso de centros de reparao
mecnica, estacionamentos, lojas de bebidas e espaos
para o cio;
- oficinas de formao cidad, luta contra as drogas,
violncia familiar, direitos humanos;
- visitas s comunidades para conhecer os problemas
mais freqentes referentes violncia familiar;
- aes cvicas em centros hospitalares e instituies
Aplicao de estratgias similares de Segurana em
duas reas com diferentes resultados
323
para crianas especiais;
- limpeza do mato nos lugares pblicos;
- no caso de Tejeras, foi implementada uma estratgia
adicional referida criao de uma rede de informao
via telefnica, direta e confidencial, para a formulao
de denncias.
As metas alcanadas:
No caso de La Morita conseguimos:
1. diminuir o ndice de delinqncia em at 30% em
comparao com o ano anterior, em especial a violncia
familiar;
2. houve um aumento de at 75% das denncias,
realizadas perante a polcia por diferentes motivos. De
fato, como aumentou a confiana das pessoas na polcia,
conseguimos descobrir uma mulher jovem que
permaneceu amarrada a uma cama por mais de 15 anos
contra a sua vontade;
3. a comercializao ilegal de armas foi minimizada, j
que graas s denncias se conseguiu desmantelar um
grupo de fabricantes de carregadores para FAL;
4. as denncias por violaes dos direitos humanos
foram minimizadas a zero, de acordo com a
informao do escritrio da Defensoria Pblica;
5. conseguiu-se estabelecer contato direto com os
estudantes dos nveis de educao bsica e secundria;
6. em la Morita, conseguiu-se a assistncia massiva de
cidados s reunies para o planejamento da segurana
pblica.
No caso de Tejeras logramos:
1. em comparao ao ano anterior, o ndice de delitos
diminuiu somente 5%, especificamente nos casos de
Luis Alberto Pacheco
324
furtos e roubos a estabelecimentos comerciais;
2. foi possvel instalar a rede de informao com a
participao de somente 35 pessoas;
3. semelhantemente ao ano anterior, s foram
apreendidas oito armas de fogo.
Por que em situaes similares, implementando estratgias
equivalentes, os resultados so diferentes?
Pensei em vrios assuntos:
1. talvez, a participao das pessoas seja um assunto
chave para garantir a segurana pblica. Em uma regio
policial as pessoas participaram mais que na outra.;
2. talvez a ingerncia dos partidos polticos e dos
governantes da vez tambm influa. Se o governante se
deixa assessorar e no se imiscui diretamente nos nveis
de comando (como costumava ocorrer em La Morita)
mais fcil alcanar o objetivo da segurana. O
exemplo mais claro que detnhamos pessoas com
objetos provenientes do delito e com poucos minutos
recebamos chamadas telefnicas de pessoas influentes,
em sua maioria do meio poltico, solicitando a liberdade
imediata;
3. talvez a disposio geogrfica de Tejera no
favorecesse a efetividade do patrulhamento policial por
ser uma rea montanhosa, onde as casas estavam
localizadas em reas muito estreitas, vias que, em sua
maioria, impediam a passagem dos veculos para realizar
o trabalho;
4. talvez no poder superar os vcios do passado
perpetrados pela polcia impediu que em Tejeras os
comerciantes no deixassem de exigir que a polcia se
dedicasse exclusivamente proteo dos negcios;
5. talvez o trabalho preventivo com os jovens (eventos
esportivos, oficinas de formao, encontros entre
Aplicao de estratgias similares de Segurana em
duas reas com diferentes resultados
325
escolas com mais de 90% da populao estudantil da
regio) facilitou que em La Morita diminusse o ndice
de delitos no entorno dos colgios;
6. talvez a relao com os estudantes lograda em La
Morita e no em Tejeras tenha facilitado uma rede de
informao a respeito dos problemas juvenis que
depois de processada se convertia em novos
procedimentos policiais;
7. talvez a resistncia das pessoas com o novo Cdigo
Orgnico Processual Penal tambm teria influenciado.
Antes a pessoa era mantida detida at demonstrar a
sua inocncia e agora no possvel faz-lo e, alm
disso, foram incorporados princpios de direitos
humanos na atuao policial;
8. talvez seja a falta de legislao especial para a sano
de faltas menores.
Vocs diro: por que, em contextos semelhantes, aplicando
estratgias comuns, os resultados foram diferentes?
Luis Alberto Pacheco
326
P
E
R
U
Relato Policial
A COMISARA DE CRUZ BLANCA: UMA
EXPERINCIA DE GESTO POLICIAL
Julio Diaz Zulueta
*
A provncia de Cruz Blanca est localizada 150 km ao Norte de
Lima. composta dos distritos Santa Mara e Hualmay Provncia de
Huaura, aproximadamente com uma populao de 40 mil moradores por
distrito. Quem subscreve foi incorporado na comisara de Cruz Blanca
no dia 07 de Fevereiro de 2002.
ANOS 2002-2003
I. Primeira parte
A. Que qualidade de servio prestava-se ao cidado
A situao era muito difcil. A populao no aceitava a Polcia. O
primeiro a ser feito foi um DIAGNSTICO do problema. Encontrou-se
o seguinte:
mals-tratos ao pblico desde a porta de entrada;
demora na entrega de cpias autenticadas do
endereo, sobrevivncia e outros;
no havia resposta imediata aos chamados de auxlio
da populao;
diante de uma denncia de qualquer ilcito, insinuava-
se que no havia gasolina, papel e outros;
no eram aceitas denncias fora do horrio de
expediente;
alm disso, no dia 8 de maio de 2001, o cidado
Jenard Lee Rivera morreu na cela da Comisara.
Centenas de moradores rodearam e jogaram pedras
na dependncia policial. Quase chegaram a destru-la.
Esse foi o pior momento, que antecedeu ao incio da
*
Major da Polcia Nacional do Peru - PNP. Participante do VI Mestrado em Administrao da
Escola Superior de Polcia - Esupol
gesto;
327
concluiu-se que o servio prestado na mencionada
comisara era de m qualidade e que a populao no queria
denunciar porque no obtinha nenhum resultado positivo.
B. Diagnstico criminal
havia gangues de jovens que causavam, diariamente,
danos materiais propriedade pblica e privada nos
distritos de Hualmay e Santa Maria, da provncia de
Huacho;
cometiam-se arrombamentos da propriedade pblica
e privada utilizando diversas armas de fogo, o que era
feito em bandos;
as pessoas eram assaltadas na sada de suas residncias
ou na via pblica. Eram bandos conhecidos na jurisdio;
drogas eram comercializadas no varejo em diversos
setores.
C. Infra-estrutura, logstica e pessoal da Comisara de Cruz Blanca
como conseqncia da morte do cidado Jenard Lee
Rivera, milhares de moradores provocaram danos
materiais Comisara de Cruz Blanca, quebrando 25
luminrias e ocasionando destruies no interior;
havia mquinas de escrever em mal estado e um
computador avariado. Inclusive algumas mquinas de
escrever eram de propriedade dos policiais;
havia algumas portas destrudas, especialmente
aquela que conduzia aos banheiros do dormitrio do
pessoal de praas, sendo que dois deles estavam
doentes com sinusite;
quanto aos meios de transporte, havia duas viaturas e
duas motos em estado regular;
o pessoal policial designado era apenas de 23
efetivos. No havia pessoal suficiente para efetuar o
servio de rua.
Julio Diaz Zulueta
328
D. Organizao da populao
A populao no havia sido organizada, embora existissem, em
outros distritos, os programas de Juntas de Vizinhos, Vizinho Vigilante
e Policiamento Juvenil.
Soluo ao ponto A
MUDANAS PARA RECAPTURAR A CONFIANA DA
POPULAO
MUDANA DE ATITUDE DO POLICIAL E SERVIO DE
QUALIDADE AO CIDADO.
BOM ATENDIMENTO AO MORADOR DESDE O
INGRESSO NA COMISARA. Ofereceram-se palestras
permanentes todos os dias, meia hora antes da ordem unida,
a fim de sensibilizar o pessoal, motiv-lo e capacit-lo.
ENTREGA IMEDIATA E DOMICLIO DE CPIAS
AUTENTICADAS (MUDANAS INTERNAS DE PESSOAL).
Foi aproveitado, por exemplo, o policiamento em viaturas
para entregar esses documentos, especialmente para os
aposentados.
RESPOSTA OPORTUNA AO CHAMADO DE AUXLIO
DA POPULAO. Toda chamada de auxlio da populao
tinha resposta imediata e eficaz.
CUMPRIU-SE COM A OBRIGAO DE QUE TODO
TRMITE FOSSE GRATUITO. A honestidade era cbrada com
o exemplo dado pelo comisrio, administrando bem os
poucos recursos. Mesmo os policiais em geral e a populao
participavam como fiscalizadores.
ATENDIMENTO DURANTE AS 24 HORAS. Como sempre
deveria ter sido.
Soluo ao ponto B
Trabalhou-se profissionalmente, apreendendo os criminosos
mais perigosos da rea com ajuda e informao da populao.
A Comisara de Cruz Blanca: uma Experincia de Gesto Policial
329
As gangues foram reduzidas a zero, ao conseguir organizar
a populao onde estavam envolvidos os pais e vizinhos do
mesmo, recebendo palestras e mais controle sobre os filhos.
Foram colocadas guaritas e viaturas diante dos pontos de
droga e a populao foi organizada e capacitada no programa
Vizinho Vigilante; com estas aes no se permitia a
expanso do varejo de drogas.
Soluo ao ponto C
INFRA-ESTRUTURA
Os governos locais, empresrios e a populao em geral
colaboraram para obter a infra-estrutura geral da comisara de Cruz Blanca,
por um total de s/ 180 mil, cento oitenta mil soles
1
($ 60 mil sessenta mil
dlares). Isso aconteceu ao ser comprovada a verdadeira mudana de
atitude e profissionalismo que demonstraram os policiais nos anos 2002 e
2003.
LOGSTICA
No dia 26 de julho de 2002, por conta da mudana de atitude e
profissionalismo dos efetivos policiais, foi designada uma outra viatura e
duas motos Honda 700cc.; foi implementada tecnologia de ponta com
quatro computadores Pentium IV e outros artefatos.
Foi adquirida uma central de rdio, a fim de estar interconectada
com a populao que adquiriu walkies talkies. A comunicao se tornou
mais fluida entre populao e polcia.
PESSOAL
Foram designados mais oito efetivos, totalizando 31.
Soluo ao ponto D
O comisrio, uma vez que mudou atitude do pessoal policial,
o que demorou trs semanas, comeou a visitar bairro a
bairro, caminhou casa a casa, conversando com os vizinhos
e lhes pedindo colaborao na nova gesto policial.
Julio Diaz Zulueta
330
A populao, ao se convencer da verdadeira mudana da
pol ci a de sua j uri sdi o, no duvi dou em acei tar a
capacitao e composio dos Programas de Juntas de
Vizinhos e Vizinho Vigilante e em apoiar a polcia na
preveno, informao e apoio social. No total, foram
formadas 748 Juntas de Vizinhos nos anos 2002 e 2003,
uma das mais numerosas e reais do Peru, que perduram
at hoje.
II. Segunda parte
A. Criao e imaginao
O VI ZI NHO VI GI LANTE CONTROLA SUAS
VI ATURAS DURANTE AS RONDAS NOTURNAS
(CADERNO DE CONTROLE). Esta atitude outorgou muita
confiana populao para participar na preveno e ajudar
polcia, vigiando e informando sobre fatos criminosos de
sua jurisdio e fiscalizando e/ou controlando as viaturas.
O TELEFONE DO COMISARIO FICA DISPONVEL
PARA A POPULAO TODA. As pessoas no acreditavam
que o Comisario lhes desse o nmero do seu telefone
pessoal e, ainda mais, que atendesse a qualquer hora e que
suas chamadas f ossem resol vi das com pronti do e
eficincia. Isto deu muita mais confiana e estes tornaram-
se os melhores aliados da polcia.
VI ATURAS QUE CONDUZEM PACI ENTES AO
HOSPITAL. suficiente ligar para a Comisara pedindo
auxlio sobre algum acidente ou doente grave. A viatura
dirigia-se ao local e conduzia o paciente ao hospital mais
prximo. Estvamos unidos, o passado no estava nem na
lembrana.
CPIAS AUTENTICADAS ENTREGUES A DOMICLIO.
No era difcil levar os atestados de endereo ao domiclio
dos aposentados e, para aqueles que iam comisara, lhe
era entregue na hora.
A Comisara de Cruz Blanca: uma Experincia de Gesto Policial
331
B. Aliados da Comisara
Prefeitos
Empresrios
O clero
A populao em geral
C. xitos mais relevantes
Essas medidas restabeleceram a confiana e cimentaram o contato
com a populao. A partir disso, a gesto acumulou vrios xitos. Entre eles:
apreenso de bandos de assaltantes, recuperao de
armamentos e de dinheiro (30 mil novos soles), conseguidas
graas a chamadas telefnicas dos vizinhos;
criao de 748 Juntas de Vizinhos;
reduo a 95% de faltas e crimes;
controle por parte da populao do trabalho dirio da Polcia;
rondas mistas de cidados e policiais, desde as 18h at as
2h, incluindo os feriados;
transparncia total na administrao de recursos designados
Comisara;
constante fortalecimento das Juntas de Vizinho;
os prefeitos distritais de Santa Mara e Hualmay se integraram
ao comit cvico;
conseguiu-se a entrega de casacos impermeveis, lanternas,
apitos, alarmas eltricas e outros, por parte dos prefeitos;
oramento participativo:
Santa Maria s/. 60.000.
Hualmay s/. 40.000.
Julio Diaz Zulueta
332
doao de terreno para juntas de vizinhos:
Santa Maria 500 m
2
Hualmay 700 m
2
entrega de 16 mdulos rolantes para jovens em risco, doados
pela Igreja Luterana da Sucia;
300 fontes de emprego.
CONCLUSES
O conjunto de esforos significou que a comisara de Cruz Blanca,
em Huacho, fosse premiada como a melhor comisara do ano. A lio
fundamental de sua experincia foi compreender a importncia do labor
do Comissrio como liderana local da polcia. O Comissrio deve obter,
cultivar e manter o apio ativo da cidadania. Para que isso acontea, a
polcia deve ter vontade de mudana e converter o conceito de polcia
comunitria na ferramenta e no meio de conseguir uma eficaz estratgia
de segurana cidad.
Nota
1
O sol a moeda nacional do Peru. (N.T.)
A Comisara de Cruz Blanca: uma Experincia de Gesto Policial
333
G
U
A
T
E
M
A
L
A
Relato Policial
A APLICAO DE PLANO DE PREVENO DE
DELITOS EM TRS MUNICPIOS GUATEMALTECOS
Edwin Chipix
*
IDENTIFICAO GERAL
O plano ficou a cargo da Diviso Multicultural da Subdireo Geral
de Preveno do Delito da Polcia Nacional Civil de Guatemala, e foi
executado simultaneamente em trs municpios localizados em diferentes
regies de Guatemala: San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, Santa Cruz
Verapaz, Alta Verapaz e San Gaspar Chajul, Quiche, durante o ano de
2006, com participao de atores federais, estaduais, municipais e locais,
tanto do setor governamental quanto do no governamental.
Os municpios abordados foram escolhidos aps um diagnstico
baseado em critrios tais como: ndice de criminalidade e violncia,
vontade dos governos locais para apoiar os processos, nvel de
organizao cidad. As fontes de informao, metodologias e estratgias
utilizadas para o diagnstico foram diversas com o fim de ter um foco
multidisciplinar e multisetorial.
JUSTIFICATIVA
A criminalidade e a violncia que afetam atualmente a sociedade na
Guatemala criaram em sua populao uma grave percepo de insegurana,
promovida pelo aumento dos atos violentos que afetam o mais sagrado
dos direitos da pessoa humana, o direito vida. Nos registros da Polcia
Nacional Civil, os homicdios, a partir do incio do atual sculo,
apresentaram uma flutuao ascendente, em 2000 o registro de mortes
causadas por armas brancas e de fogo era de 2664, enquanto que em
2005 o registro aumentou para 10.578.
Embora seja certo que a maioria dos atos violentos so registrados
no permetro da metrpole, talvez pelas dificuldades socioeconmicas, em
nvel nacional cada vez mais estados so atingidos pelo surgimento de grupos
*
Subcomissrio da Polcia Nacional Civil.
juvenis que se dedicam a cometer assaltos, extorses e trfico de drogas.
334
Diante deste fenmeno, diversos setores da sociedade, em geral,
demandam das foras pblicas de segurana aes imediatas para
combater o clima de insegurana e vulnerabilidade, que afeta o
desenvolvimento econmico, social e poltico das diversas comunidades.
OBJETIVOS
O objetivo geral do plano era formular, desenvolver e promover
polticas e aes institucionais preventivas e inclusivas dirigidas para a
diminuio dos fatores que propiciam o delito, sobre a base do
conhecimento, reconhecimento e respeito ao carter plural da sociedade
na Guatemala. Para isso definimos trs objetivos especficos: 1) Fortalecer
funcional e profissionalmente o pessoal policial destinado s subestaes
policiais localizadas nos municpios abordados, 2) Facilitar o dilogo,
aproximao e confiana entre os diferentes atores locais, entre eles a
prpria Polcia Nacional Civil, para a ao conjunta em favor da preveno
do delito como parte de sua segurana cidad e 3) Desenvolver atividades
de sensibilizao e orientao para promover a participao e organizao
comunitria.
Em outras palavras, o que pretendamos como Polcia Nacional Civil,
de acordo a nossas capacidades humanas e logsticas, era atender as
demandas de segurana dos moradores dos municpios escolhidos, mas
sob um novo modelo de segurana, a segurana pblica cidad.
Neste caso, se entende como segurana pblica cidad a
participao ativa da cidadania na preveno do delito, a partir do respeito
de sua cultura, seu territrio, seus costumes, com planos no impostos,
mas desenhados pela prpria comunidade.
EXECUO
Uma vez escolhidos os municpios, teve incio a socializao do
plano entre os atores estratgicos locais, entre eles: o prefeito municipal,
o chefe da subestao policial, representantes de organizaes no
governamentais e lderes comunitrios, com o fim de chegar a um acordo
de entendimento e vontade entre os atores para apoiar e participar
ativamente do desenvolvimento do plano. Entre os compromissos
A aplicao de Plano de Preveno de Delitos
em trs municpios guatemaltecos
335
assumidos pelos atores institucionais estratgicos estava o
desenvolvimento de aes e estratgias tanto em nvel interno como
externo.
Manifestado o interesse dos atores, atendendo s especificidades
scio-culturais de cada regio, foi acordada uma data para a inaugurao
pblica do plano em nvel municipal, a qual foi realizada conforme o
programado.
Embora houvesse presena de diversos atores, sua participao e
envolvimento no eram equilibrados, alguns esperavam que os demais
comeassem a trabalhar para s depois se envolver, do contrrio preferiam
esperar, ento as atividades comearam a sobrecarregar a diviso policial
a cargo.
Houve acordos condicionantes, um deles, adquirido por parte da
Polcia Nacional Civil, era a troca e aumento do pessoal policial no municpio,
o que, embora tenha sido prometido pelo chefe policial regional, no foi
cumprido por questes burocrticas, que na realidade, consideramos, se
deve falta de vontade poltica e desvalorizao da participao cidad na
preveno do delito.
Pelo lado do prefeito municipal estava a promessa de melhorar as
instalaes da subestao policial e facilitar os recursos logsticos
necessrios para o desenvolvimento das atividades de capacitao,
sensibilizao e orientao que, sobre a participao e organizao cidad
em favor da preveno do delito, se desenvolveriam com os diferentes
atores e setores da jurisdio municipal.
Por seu lado, os atores no governamentais incluram dentro de
seus programas processos de dilogo, capacitao, sensibilizao e
orientao sobre temas dirigidos preveno do delito.
No decorrer do tempo, o plano ia dando resultados, embora no
de acordo aos objetivos programados, o pessoal policial, embora no
contasse com pessoal suficiente, estava sendo capacitado para oferecer
um servio mais profissional e social, os professores, alunos e lderes
comunitrios receberam sensibilizao e orientao para a participao e
organizao comunitria, at finalizar o perodo de execuo.
Edwin Chipix
336
RESULTADOS OBTIDOS
Com a implementao do plano o nvel de confiana entre a polcia
e a comunidade melhorou consideravelmente, as denncias de atos delitivos
aumentaram e os casos de violncia e criminalidade diminuram levemente.
Em geral, os objetivos no foram alcanados conforme o planificado,
mas no por isso deixou de ser um sucesso para a equipe de trabalho que
ficou a cargo do plano.
LIES APRENDIDAS
O entendimento de que a diminuio dos nveis de criminalidade e
violncia que atualmente afetam as sociedades latino-americanas somente
pode ser resultado do esforo conjunto entre as instituies de polcia e
as comunidades, mas para isso indispensvel que as instituies que tm
a seu cargo o uso legtimo da fora pblica adotem sistemas de segurana
mais inclusivos e comunicativos, superando toda atitude de autoritarismo
e represso, prprias das pocas sociais histricas de controle social
exclusivo.
A execuo do plano tambm permitiu equipe de trabalho
compreender as complexidades, obstculos e desafios para a
implementao de programas dirigidos ao fortalecimento da segurana
pblica cidad, entre elas as que a seguir so brevemente descritas:
necessrio unificar critrios entre os atores
estratgicos sobre os alcances conceptuais da
segurana pblica cidad e da preveno do delito;
os planos e estratgias devem ser elaborados pelos
atores locais, segundo suas necessidades e
caractersticas scio-culturais;
um plano, mesmo que municipal, deve deter
compromissos em nvel estadual, regional e federal;
as instituies, especialmente as de servio publico,
devem obedecer polticas pblicas claras para que a
A aplicao de Plano de Preveno de Delitos
em trs municpios guatemaltecos
337
participao de seus delegados seja institucional e
pouco individualizada;
o desconhecimento sobre segurana pblica cidad e
a desvalorizao das aes para a preveno do delito,
em nvel de comandos superiores, fragilizam a
legitimidade e o reconhecimento social da polcia;
existem espaos legais para a participao cidad;
os problemas de insegurana so multicausais, por
isso devem ser abordados de forma multidisciplinar.
Edwin Chipix
338
P
E
R
U
Relato Policial
CHEFIA E LIDERANA POLICIAL: O CASO DA
PROVNCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO-LIMA
Eduardo Guillermo Arteta Izarntegui
*
1 INTRODUO
Antes do ano de 2003, perpetuava-se na chefia de Segurana
Cidad da Polcia Nacional do Callao uma viso da funo policial
condi ci onada aos recursos exi stentes, que se di stanci ava das
inovaes e dos enfoques estratgicos. Muitos chefes de polcia
consideravam que suas gestes no mbito policial da provncia do
Callao teriam sido frutferas, apesar da ausncia de propostas novas
sobre segurana cidad.
O que pretendemos expl i car, que a experi nci a nos
demonstrou que, graas globalizao, modernidade e tecnologia,
ou seja, aplicao do marketing da Polcia Nacional do Peru (PNP)
no Callao, foram alcanadas mudanas significativas, como veremos
mais adiante. Nesse sentido, entendemos o marketing da PNP como
as atividades de criao e promoo de servios ao cidado, graas
aos quais se pde estabelecer uma melhor viso sobre a cidadania e,
dessa forma, satisfazer seus desejos e necessidades da melhor
maneira.
Nosso nico intento transmitir as experincias de nosso
Comando, assinalando a interessante implementao, durante o
perodo 20032004, do modelo de gesto da Chefia de Polcia do
Callao, quando foi posto em prtica o Conceito Global Marketing
de Relaes, cujos resultados se refletem em haver conseguido
estabelecer relaes de longo prazo com o Governo Regional do
Callao e com as Municipalidades, os quais impulsionaram um agressivo
plano estratgico de luta contra a delinqncia, com resultados de
melhoria da imagem institucional, os quais sero apresentados no
*
Coronel da Polcia Nacional do Peru - PNP, mestre em Administrao, diretor da Central de
Operaes Policiais da Direo Geral.
decorrer do presente trabalho.
339
2 DIAGNSTICO DO PROBLEMA DE INSEGURANA CIDAD NA
PROVNCIA CONSTITUCIONAL DO CALLAO
2.1 Antecedentes
O problema da Segurana Cidad um tema de interesse nacional,
portanto, de natureza regional e local. , desta forma, preocupao do
Governo Central, dos Governos Regionais e dos Governos Locais. Todos
esses atores deveriam fazer parte de um sistema nacional de segurana
cidad que permitisse oferecer um nvel adequado de segurana e amparo
populao.
A segurana cidad, especialmente nas principais cidades do pas,
se transformou no aspecto de principal preocupao da cidadania. A
percepo de insegurana no s se relaciona com o aumento da violncia
e da delinqncia, mas tem a ver com a pouca confiana que tem o cidado
na capacidade das entidades do Estado encarregadas de garantir sua
segurana.
Com o objetivo de enfrentar essa situao, as autoridades nacionais
iniciaram processos de consulta, dirigidos reforma das instituies
pblicas encarregadas da segurana cidad e ao planejamento de uma
operao orientada ao apoio de iniciativas locais de preveno. Nessa
tarefa, inclui-se tambm a busca pelo fortalecimento da capacidade
institucional para a elaborao e implantao de polticas eficientes e eficazes
de segurana cidad, que tenham uma resultante voltada para a reduo
da violncia e da criminalidade que vm afetando o pas.
O tema da Segurana Cidad uma poltica de Estado, onde se
destaca expressamente a erradicao da violncia e o fortalecimento
do civismo e da segurana cidad. A Polcia Nacional do Peru parte
fundamental na corrente do Estado para controlar e prevenir a violncia e
criminalidade. No entanto, nossa instituio tem uma srie de limitaes.
Segundo a anlise realizada pela Comisso Especial de Reestruturao
da Polcia Nacional, entre essas limitaes se encontram o inadequado
uso dos recursos, altos nveis de corrupo, mecanismos de prestao
de contas pouco eficientes, falta de abertura com a comunidade, ms
relaes com os Governos Regionais e uma marcada desconfiana do
cidado em relao polcia.
Eduardo Guillermo Arteta Izarntegui
340
No caso do Governo Regional do Callao, depois de reiteradas
reunies de coordenao, por iniciativa da chefia de Segurana Cidad do
Callao, foi instaurado, no dia 13 de Fevereiro de 2004, o Conselho
Regional de Segurana Cidad da Provncia Constitucional do
Callao, constitudo pelas principais autoridades da provncia.
Nesse contexto, a Chefia de Segurana Cidad da Polcia Nacional do
Callao tem como primordial objetivo apoiar o desenvolvimento regional
integral sustentvel, colaborando na promoo dos investimentos pblicos
e privados, bem como na gerao de empregos, alm de garantir o exerccio
pleno dos direitos e da igualdade de oportunidades de seus habitantes.
2.2 Percepo da insegurana e aes
Por tais consideraes, e nos termos da lei N. 27933, que regula
o sistema nacional de segurana cidad, foi programado um conjunto de
aes a favor da Instituio Policial, uma vez que a provncia do Callao
tornara-se a quarta cidade de maior ndice delitivo em nvel nacional.
Os nveis de violncia na provncia vinham lesando o ordenamento
jurdico, a convivncia pacfica e as liberdades cidads, fazendo com que a
vizinhana chalaca
1
, e especialmente a imprensa, com suas publicaes
jornalsticas, reclamassem s autoridades, face falta de segurana nas ruas.
A sociedade civil e as organizaes sociais, culturais e polticas
exigiram das autoridades uma ao contundente contra a delinqncia,
ante a gravidade da insegurana cidad motivada pela falta de emprego,
pobreza extrema, aglomerao populacional, crises de valores, condutas
obscenas, o desapego do cidado por temas de interesse comum e a
corrupo, cenrio esse no qual as manifestaes mais nefastas so a
delinqncia comum, o crime organizado e o clima de violncia latente.
Essa situao motivou o Comando da Polcia Nacional do Callao,
aps prvio diagnostico da situao da delinqncia, a buscar conseguir o
apoio necessrio para enfrentar a luta contra a insegurana cidad. E foi o
Governo Regional do Callao quem estabeleceu as primeiras bases de
apoio Instituio Policial e evidenciou a necessidade de contribuir para a
diminuio dos nveis de insegurana, mediante o desenvolvimento de
aes de preveno criminalidade e violncia.
Chefia e Liderana Policial: O caso da provncia constitucional de Callao-Lima
341
3 PROBLEMTICA DO SERVIO PRESTADO PELA PNP (2002)
3.1 Quanto segurana e tranqilidade cidad:
a) falta de uma adequada racionalizao do pessoal;
b) necessidade e repotencializao dos Planos de
Patrulhamento;
c) falta de coordenao com os Governos Locais e Regionais;
d) falta de uma adequada participao da populao civil
organizada;
e) falta de avaliao nas delegacias do Callao;
f) necessidade de remodelar as anlises estatsticas e de
inteligncia.
3.2 Quanto problemtica do pessoal policial:
a) insuficiente nmero de policiais para enfrentar o problema
da delinqncia;
b) disperso de esforos no tratamento do problema da
insegurana cidad;
c) necessidade de aplicar rotatividade ao pessoal.
3.3 Quanto problemtica do aspecto logstico da polcia do Callao:
a) necessidade de contar com maiores meios de transporte;
b) necessidade de contar com equipamentos (rdio
transmissor-receptor e outros).
3.4 Quanto problemtica da infra-estrutura:
Apresentao dos projetos a serem considerados, para
aprovao de parte do Governo Regional do Callao.
Eduardo Guillermo Arteta Izarntegui
342
4. APROXIMAO COM A COMUNIDADE
(ANO 2003)
A Chefia da Polcia Nacional do Callao, durante a gesto realizada
entre os anos 2003 e 2004, ao observar o alto ndice de delinqncia e
no encontrar alternativas viveis para fazer frente ao quadro que
atravessava, realizou um diagnstico da situao de insegurana. Constatou-
se que, dos fatos delituosos contra entidades comerciais, empresas
pblicas e privadas, turistas, comerciantes e transeuntes em geral, ocorriam
em maior volume delitos e faltas contra o patrimnio, nas suas diversas
modalidades (assalto e roubo, roubo qualificado, furto, seqestros-
relmpagos
2
, escape
3
, e cogote
4
, maquinazo
5
, entre outros), e que os
delinqentes atuam em bandas organizadas, portando armas de fogo e/ou
armas brancas. Verificou-se, ainda, que a maior incidncia dessas
ocorrncias encontrava-se na jurisdio do distrito do Callao, de acordo
com as estatsticas assinaladas pela Polcia Nacional do Peru.
O problema do trfico e consumo de drogas no distrito do Callao,
possui ndices alarmantes pela sua complicada forma de negociao,
especialmente na modalidade do micro-comercializao de pasta base,
cloridrato de cocana e maconha, para o qual os delinqentes utilizam a
via pblica, interior de domiclios e centros de diverses. Tal aspecto
torna cada vez mais complexa a interveno policial, situao essa agravada
pelo fato desses elementos utilizarem menores de idade, mulheres em
extrema pobreza e, em menor nmero, maus elementos das instituies
encarregadas de sua represso, que lhes facilitam a ilcita atividade. Quanto
ao transporte, constata-se que os traficantes utilizam veculos maiores e
menores para a transferncia e/ou comercializao da droga.
Observa-se, de forma alarmante, o aumento do nmero de gangues
no distrito do Callao, formadas por jovens de ambos os sexos, que atuam
em grupos e se dedicam a cometer delitos e faltas contra o patrimnio.
Ocasionalmente, essas gangues se enfrentam em via pblica com objetos
contundentes e perfuro-cortantes, causando inquietude e aflio na
populao, com o subseqente dano propriedade.
A primeira estratgia de aproximao com a comunidade foi o
acordo firmado com a municipalidade provincial do Callao, onde, depois
de reunies de coordenao, foram estabelecidas as condies necessrias
Chefia e Liderana Policial: O caso da provncia constitucional de Callao-Lima
343
para a instaurao da ordem e da segurana. Tomou-se como plano piloto
um quadrante compreendido entre os quarteires que tm como vias
principais Apurmac, Marco Polo, Senz Pea e Contralmirante Villar,
executando operaes de segurana comunitria, erradicao de delitos
e faltas de maior incidncia (assaltos, roubos, arrebatos
6
, micro-
comercializao de drogas), realizando um intenso patrulhamento,
motorizado em apoio rea de vigilncia do policial comunitrio e
utilizando veculos policiais, e/ou municipais, proporcionando, dessa forma,
segurana total na rea considerada de alto risco.
As atividades realizadas foram direcionadas visando pr em prtica:
a) o Plano Piloto de Segurana Cidad, no quadrante
acima referido;
b) a diviso do quadrante em reas de vigilncia,
composta por doze (12) quadras, designando pessoal
policial e municipal de forma permanente;
c) a destinao de um veculo e de meios de
comunicao s reas de vigilncia;
As reas de vigilncia foram estabelecidas nas seguintes quadras:
a) Marco Polo - Buenos Aires Guisse Apurmac;
b) Marco Polo Coln Guisse - Buenos Aires;
c) Marco Polo Senz Pea Guisse Coln;
d) Guisse - Buenos Aires Saloom Apurmac;
e) Guisse Coln Saloom Buenos Aires;
f) Guisse Senz Pea Saloom Coln;
g) Saloom Buenos Aires Cocrhane Apurmac;
h) Saloom Coln Cocrhane Buenos Aires;
i) Saloom Senz Pea Cocrhane Coln;
j) Cocrhane Buenos Aires R. Villar Apurmac;
l) Cocrhane Coln R. Villar Buenos Aires;
m) Cocrhane Senz Pea R. Villar Coln.
Eduardo Guillermo Arteta Izarntegui
344
Foram efetuados levantamentos de dados reais sobre todos os
elementos de segurana e integrantes da comunidade, que vivem ou
trabalham em cada rea, assim como dos veculos que nelas permanecem.
Realizaram-se visitas policiais, devidamente registradas, aos vizinhos de
cada rea de vigilncia, para perguntar sobre seus anseios em matria de
segurana. Da mesma forma, promoveu-se a organizao de juntas de
vizinhos e clubes infanto-juvenis para participao sistematizada em
atividades esportivas, culturais e comunitrias, organizadas pela Polcia
Nacional e pela Municipalidade.
A Organizao do Plano Piloto compreendeu:
a) quadrante: 12 quadras
b) reas de vigilncia: 12
c) unidade motorizada: 01 veculo de patrulha
d) pessoal policial: 02 por turno
e) telefonia celular: 12 equipamentos
Foram divulgados, pelos meios de comunicao, materiais de
propaganda relacionados s normas legais que se encontram vigentes,
com relao ordem pblica e ao bom uso das ruas.
Foram realizadas instrues sobre a forma de agir em relao s
pessoas que cometam atos anti-sociais, conduzindo-as s delegacias para
o registro da ocorrncia, por intermdio dos policiais designados para
cada rea de vigilncia.
Emitiram-se, tambm, orientaes para erradicar das ruas as
pessoas que se encontrem ingerindo bebidas alcolicas em via pblica,
exercendo o meretrcio, a mendicncia, o comrcio informal, etc.
Dotaram-se com telefonia celular todas as reas de vigilncia e grupos
especiais de preveno e represso ao delito.
Foram planejadas operaes de filtro policial que permitiam a
identificao de pessoas margem da lei, verificando por telefone os
antecedentes e a existncia de mandatos de priso.
Todas as pessoas que cumpriram tarefas de apoio ao sistema de
segurana foram preparadas e capacitadas.
Chefia e Liderana Policial: O caso da provncia constitucional de Callao-Lima
345
Outros aspectos:
a) atribuiu-se uma credencial emitida pela Polcia
Nacional s pessoas que colaboraram nessas tarefas,
estabelecendo programas de estmulo participao
da vizinhana;
b) estimulou-se, por intermdio dos policiais
comunitrios, em sua respectiva rea de vigilncia, a
participao de jovens em atividades comunitrias,
esportivas, culturais e de preveno do consumo
indevido de drogas, organizados da seguinte forma,
- cada rea de vigilncia possua ncleos de dez
(10) jovens.
- doze (12) ncleos formavam uma equipe de
trabalho, cuja assessoria esteve a cargo de um
oficial de polcia; as reunies destes grupos eram
realizadas nos sbados e domingos, entre as 10h
e 14hs.
Obrigaes assumidas pela Polcia Nacional do Callao:
a) nomeao de pessoal policial de acordo com a
disponibilidade de seus efetivos no quadrante onde foi
posto em execuo o Plano Piloto de Segurana Cidad;
b) designao de um veculo policial de forma
permanente ao quadrante compreendido por doze (12)
reas de vigilncia, nas doze (12) quadras selecionadas;
c) centralizao e processamento de um banco de
dados sobre os elementos de segurana e integrantes
da comunidade que trabalham e moram nas reas de
vigilncia;
d) superviso e estabelecimento dos procedimentos a
serem empregados nas visitas realizadas aos vizinhos
de cada rea de vigilncia para verificar os anseios em
matria de segurana cidad;
e) total colaborao na organizao de juntas de vizinhos
e clubes infanto-juvenis;
Eduardo Guillermo Arteta Izarntegui
346
f) emprego do Escritrio de Inteligncia e do
Esquadro Verde, para que executem as apreciaes
e intervenes nas reas crticas assinaladas;
g) programao de operaes policiais dentro do
quadrante selecionado;
h) entrega das credenciais s pessoas reconhecidas
como integrantes das juntas de vizinhos;
i) incentivo participao dos jovens em atividades
comunitrias, esportivas, culturais e de preveno ao
consumo indevido de drogas;
j). coordenao com a municipalidade do Callao para o
intercmbio de informao e o apoio tecnolgico e
logstico necessrio para o sucesso do Plano Piloto de
Segurana Cidad.
Obrigaes assumidas pela municipalidade do Callao:
a) divulgao do Plano Piloto de Segurana Cidad
populao do distrito do Callao.
b) apoio com pessoal do municpio nos assuntos
prprios de sua competncia.
c) apoio Diviso Provincial da Polcia do Callao, com
meios tecnolgicos, logsticos e econmicos para o
sucesso da operao.
d) colaborao com pessoal capacitado para a
organizao de juntas de vizinhos e clubes infanto-
juvenis.
Nota
1
Designa-se chalaca quele que natural da Provncia do Callao
2
Esta modalidade denominada no Peru de secuestro al paso
3
Vulgarmente conhecida no Brasil como saidinha bancria
4
Modalidade de roubo no qual o infrator golpeia ou ameaa com objeto perfurante o pescoo da
vtima
5
Modalidade de roubo no qual o infrator golpeia a vtima com a coronha do revlver, ou, por
extenso, com qualquer objeto contundente.
6
Entende-se o arrebato no Peru como sendo o roubo rpido de relgio, carteira, telefone, celular,
e outros bens similares, conduzidos pela vtima durante um deslocamento.
Chefia e Liderana Policial: O caso da provncia constitucional de Callao-Lima
347
B
R
A
S
I
L
Relato Policial
A VIOLNCIA CONTRA OS POLICIAIS: PERCEBER,
PROBLEMATIZAR E ATUAR (?)
Martim Cabeleira de Moraes Jnior
*
INTRODUO
A relevncia do tema est principalmente em dois pontos: 1 A
discrepncia entre as conseqncias das violncias sofridas pelos policiais
e a ausncia da discusso de tais atos na comunidade acadmica brasileira.
2 A necessidade de se construir polticas de segurana pblica que
abranjam todos os aspectos que envolvem o tema polcia.
No que se refere importncia para a proposta do curso entende-
se que o caso apresentado gerador de reflexo sobre os desafios (ainda
no enfrentados na sua plenitude) de melhorias reais nos rgos de
segurana pblica. O assunto proposto traz: desafio, inovao, atualidade,
total convergncia aos princpios democrticos e dos Direitos Humanos,
bem como est desenvolvido no eixo temtico polcia e polcia, uma
vez que trata de mecanismos de percepo, controle e melhorias internas
nos rgos policiais.
CONTEXTUALIZAO DO TEMA
Sempre que se trata de violncia, se faz necessria a delimitao do
conceito, muito embora se reconhea que a questo do conceito de violncia
ainda no tenha sido enfrentada de maneira considerada satisfatria.
Neste sentido, por todas as dificuldades de conceituao, para tratar
de tal tema se escolheu a definio apresentada por YVES MICHAUD como
a mais adequada discusso proposta.
Segundo MICHAUD (1989, p. 10) ocorre violncia quando: [...]
numa situao de interao, um ou vrios atores agem de maneira direta ou
indireta, macia ou esparsa, causando danos a uma ou vrias pessoas em
graus variveis, seja em sua integridade fsica, seja em sua integridade
Oficial da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Licenciado em Direito, especialista
em segurana cidad e mestre em Sociologia.
moral[...].
348
Definida a violncia, resta compreender-se que existem formas
especficas de violncia que, contidas no conceito geral apresentado,
possuem caractersticas que as distinguem em subtipos ou espcies a
serem analisadas isoladamente para fins de percepo no cenrio de
atuao das polcias.
Para abordagem inicial do tema sero apresentados trs tipos
de violncia, com indicadores e exemplos, para caracterizar as formas
de violncia contra policiais que no esto nas pautas de discusses
em geral, sejam acadmicas ou de outros crculos sociais.
Como primeiro tipo especfico de violncia e sua aplicao ao
tema apresenta-se NILO ODLIA (1991), quando trata da violncia
original. A violncia original, concebida como Agresso fsica que atinge
diretamente o homem tanto naquilo que possui, seu corpo, seus bens,
quanto naquilo que mais ama, seus amigos, sua famlia (ODALIA, 1991,
p. 9), atinge os policiais de vrias maneiras, pois nos trabalhos de
policiamento ou investigao criminal, a agresso fsica um risco
iminente, quando no acontece, est para acontecer, contra o policial,
contra os seus bens, ou contra aqueles que lhe so caros (familiares,
amigos e colegas). Esta violncia, embora esteja no ambiente de atuao
dos policiais, percebida geralmente como violncia policial e quase
nunca se evidencia os danos fsicos e emocionais sofridos pelos policiais.
Como indicadores da violncia do ambiente de atuao policial
tem-se: registros de mortes e ferimentos de policiais em servio ou
em razo da funo;doenas fsicas ou psquicas adquiridas em
conseqncia do sofrimento da presena ou do sofrimento de violncias
(alcoolismo, doenas mentais, etc.).
Como exemplo de tal violncia veja-se a publicao: Sujeitos e
instituies: modos de cuidar e tratar (2002, p. 36):
Em l evantamento real i zado pel o Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria da Justia e da
Segurana do Estado do Rio Grande do Sul, em 2000, observou-se
um quadro preocupante, indicando nmeros expressivos relacionados
ao adoecimento psquico dos trabalhadores de segurana pblica do
A violncia contra os policiais: perceber, problematizar e atuar(?)
349
estado. Dentre as formas de sofrimento mais citadas, esto os casos
de drogadio e alcoolismo, violncia familiar e nas ruas, casos de
insnia, lcera, depresso grave, levando, em algumas situaes, ao
suicdio ou tentativas.
Em segundo lugar vem o tipo especfico de violncia chamada
violncia simblica, assim designada por BORDIEU e PASSERON (1975),
significando a aquela que se mostra nas relaes de poder, ou seja, a
violncia que, embora ocorra abertamente, encontra mecanismos que
tornam sua problematizao camuflada por uma falsa concluso que est
tudo em ordem. A violncia simblica, no contexto policial est muito
ligada ao que a imprensa divulga sobre aes da polcia.
Neste caso a principal agresso vem dos meios de comunicao
social (jornais, telejornais, reportagens em geral), que tratam resultados
de aes policiais de maneira sensacionalista, inclusive pr-julgando
fatos, quando descrevem como culpados alguns policiais sem nem
sequer haver investigao ou processo criminal.
So i ndi cadores da vi ol nci a dos mei os de comuni cao:
publicaes sensacionalistas de fotos e divulgao de fatos sem citao
de hipteses diversas sobre o caso; ausncia de aes judiciais pelas
instituies policiais por danos sofridos por agentes, decorrente de
notcias sobre suas aes.
Em terceiro lugar cita-se o caso da violncia institucional, que,
embora no esteja caracterizada por autores consagrados, da maneira
como se faz neste artigo, est promovida pelo Estado ou pela prpria
instituio policial, no momento em que os policiais sofrem uma
enorme presso para ter sucesso em todas as suas aes, punindo-se
a menor margem de erro. Pelos demais policiais, que hostilizam aquele
que cometeu algum erro, mesmo antes de saber se realmente houve
um erro, ou se foi praticado intencionalmente. Havendo neste sentido,
uma presso muito grande sobre as aes policiais, sem, contudo, se
estabelecer contrapartidas quaisquer para compensar estes fatores.
So indicadores deste tipo de violncia: sinais de hostilizao
dos colegas por aes de outros policiais; transferncias de policiais
por aes consideradas legtimas.
Martim Cabeleira de Moraes Jnior
350
CONSIDERAES FINAIS
Apesar de existirem outros tipos de violncia a que esto sujeitos
os policiais, para fins de apresentao inicial do tema a concentrao ser
nas trs espcies apontadas.
No Brasil so raros os estudos sobre vitimizao policial, como o
realizado por Jaqueline Muniz (1998).
Os poucos trabalhos que abordam o tema o fazem considerando a
violncia fsica to somente.
Tanto as instituies policiais quanto seus componentes, encontram-
se, de certa maneira maltratadas, uma vez que pouco se discute sobre as
formas mais sutis de violncia que causam o sofrimento no trabalho
(tomando emprestado o termo de Dejours).
Tambm se pretende que o tema violncia policial sempre seja
tratado de forma contextualizada, levando-se em considerao tanto o
contexto terico, quanto o metodolgico e o de suporte ftico, para que
no se construa um discurso fragmentado para um fenmeno com
profundas razes sociais.
A busca aqui por uma progresso dialtica, onde cada tese possa
originar novas antteses e snteses, as quais serviro como novas teses,
seguindo um ciclo evolutivo de pensamentos e prticas em prol do bem
estar social, conforme j descrito no artigo anterior sobre o tema.
Referncias Bibliogrficas
ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Relatrio Final da Comisso
Especial de Segurana Pblica, 2003.
BORDIEU, P.; PASSERON, J.C. A reproduo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
DORNELLES, O que crime (Coleo primeiros passos). So Paulo: Brsiliense, 2 Edio, 1992.
DRKHEIM, Emile. As regras do mtodo sociolgico. Martin Claret. So Paulo. 2002.
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA JUSTIA E DA SEGURANA.
Sujeitos e instituies: modos de cuidar e tratar. Programa de sade mental para os trabalhadores
da segurana pbica uma viso cartogrfica. Grfica da UFRGS. 2002
MICHAUD, Yves. A violncia. So Paulo. tica, 1989.
MUNIZ, Jaqueline. Mapeamento da vitimizao de policiais no Rio de Janeiro. Ministrio da
Justia. 1998.
A violncia contra os policiais: perceber, problematizar e atuar(?)
351
_______________. Ser policial , sobretudo uma razo de ser - Cultura e Cotidiano
da Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro. IUPERJ, 1999.
ODALIA, Nilo. O que violncia (Coleo primeiros passos). So Paulo: Brsiliense, 6 Edio,
1991.
SILVA, Jorge da. O controle da criminalidade e segurana pblica na nova ordem constitucional.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2 edio, 2 Tiragem. 1999.
SKOLNICK, Jerome H. Nova polcia: Inovaes na polcia de seis cidades norte-americanas /
Jerome H. Skolnick, David H. Bayley; traduo de Geraldo Gerson de Souza. So Paulo, 2001.
(Srie Polcia e Sociedade; n. 2)
SOUZA, Herbert Jos de. Como se faz anlise de conjuntura. 21 edio. Rio de Janeiro: Editora
Vozes. 2000.
WEBER, Max, Ensaios de Sociologia.2 ed. Rio de Janeiro: Zahar,1971.
Martim Cabeleira de Moraes Jnior
352
V
E
N
E
Z
U
E
L
A
Relato Policial
A FORMAO POLICIAL: UM DESAFIO
DEMOCRTICO
Comissria Aimara Aguilar
*
A Constituio da Repblica estabelece que todos os rgos de
segurana cidad so de carter civil e outorga ao poder pblico estatal e
municipal a faculdade de criar corporaes policiais e encarregar-se de
sua formao. Na atualidade existem na Venezuela 126 corporaes de
polcia, segundo o levantamento de informao da Comisso Nacional
para a Reforma Policial.
Soraya El Achkar e Humberto Gonzalez (2007) fizeram um estudo
sobre a formao policial: perspectiva histrica e realidade atual, resenhado
nos trabalhos da Comisso Nacional para a Reforma Policial. Este estudo
apresenta a seguinte caracterizao geral:
No pas temos cinco modelos diferentes de formao policial:
1. Modelo Universitrio PM, representado basicamente
pela Polcia Metropolitana, porque tem tido uma nfase
especial no desenvolvimento de um sistema de
formao universitria para oficiais com endereos de
extenso em 10 estados do pas, oferecendo tanto a
Licenciatura em Cincias Policiais, como o Tcnico
Superior em Polcia Preventiva.
2. Modelo de Educao Regional, o qual representa as
seis Escolas Regionais de Polcia que dependem do
Ministrio do Interior e da Justia, encarregadas de
formar agentes e oficiais das diferentes regies do pas.
3. Modelo dos estados, o qual representa os centros e
programas de formao policial de dependncia
estadual e cuja misso social basicamente formar,
essencialmente, agentes das polcias do estado
correspondente.
4. Modelo Municipal, o qual representa os centros e
programas de formao policial de dependncia
* Comissria do Corpo de Segurana e Ordem Pblica do Estado Aragua CSOPEA, chefe de
operaes da regio policial Maraca e Este.
353
estadual e cuja misso social basicamente formar aos
agentes das polcias do municpio correspondente.
5. Modelo Privado, o qual representa as organizaes
privadas que desenvolveram iniciativas de formao de
agentes.
Cada modelo e sistema tem: a) requisitos de ingresso e mecanismo
de seleo prprios (alguns atentam contra os direitos civis como o direito
a pertencer a agrupaes polticas); b) uma escala hierrquicas em rankings
que vo de dois a 19; c) um regime interno determinado (interno, semi
interno e externo); d) uma lgica organizativa que estabelece o nvel de
autonomia (a dependncia pode ser do governo estadual, da polcia, pode
ser autnoma ou completamente alheia s instancias polticas, como o
caso das iniciativas do setor privado); e) uma concepo sobre a educao
policial (militarizada, civil, instrumental, fragmentada, inconsistente); f) um
oramento que d ou no estabilidade (discricionariedade); g) uma
capacidade instalada especfica para gerar processos de formao (algumas
com sedes prprias, outras sem sede prprias) e h) com contedos
curriculares prprios (muitas no tm um desenho curricular como tal).
O estudo assinala que no pas temos 113 instituies policiais que
formam a seus aspirantes e 13 que no tm processo de formao. No
entanto, os requisitos de ingresso exigem que estejam formados em outras
instituies policiais.
El Achkar e Gonzlez (2007) assinalam que destas 113 polcias que
formam a seus funcionrios, as modalidades so mltiplas:
1. Com centros prprios: 41 polcias tm centros prprios
e estveis com uma srie de assinaturas e um regime de estudo
determinado que mais adiante detalharemos. Esta cifra
representa 33,3% das polcias do pas. Nesta modalidade, a
porcentagem do total de instituies policiais que forma a
seus funcionrios de 36,28%. Quer dizer que 63,7% das
instituies policiais no contam com centros prprios, nem
com capacidade suficiente para a formao de seus
funcionrios.
2. Sem centros prprios, mas com caractersticas variadas:
Comissria Aimara Aguilar
354
a) 35 instituies preparam cursos segundo as
necessidades e requerimentos de ingresso do novo
pessoal policial. Esta cifra equivale a 28,45% do total
das instituies policiais do pas. Nesta modalidade a
porcentagem do total de Polcias que formam seus
funcionrios de 30,97%.
b) 13 instituies preparam cursos prprios, mas,
alm disso, enviam os aspirantes a outros centros, seja
para complementar a formao, seja para aumentar a
capacidade de ingresso (misto). Esta cifra equivale a
10,56% do total de instituies policiais do pas. Nesta
modalidade a porcentagem do total de polcias que
formam seus funcionrios de 11,50%.
c) 9 instituies preparam cursos prprios, mas, alm
disso, recebem aspirantes de outros centros que
estejam preparados em assuntos policiais (Misto). Esta
cifra equivale a 7,31% do total de instituies policiais
do pas. Nesta modalidade, a porcentagem do total de
polcias que formam a seus funcionrios de 7,96%.
d) 37 instituies policiais enviam todos os seus
aspirantes a outros centros ou programas de formao
policial por que no tm cursos prprios. Isso equivale
a 30,74% do total de polcias do pas: 30,08%. Nesta
modalidade o percentual do total de polcias que
formam a seus funcionrios de 32,74%.
Nesta lgica, onde cada governador pode decidir sobre sua polcia,
fui designada desde 1997 para me dedicar rea da formao de polcias
e gostaria de apresentar minha experincia para que possamos pensar
juntos qual a concepo mais correta para a formao de um policial
para a democracia.
Eu tinha o mandato de graduar os estudantes em seis meses, os
quais recebiam as aulas no Comando Geral numa modalidade terico-
prtica e em um regime semi-interno. Aos dois meses, o governador
decide ingressar a um grupo adicional com a ordem expressa de gradu-
los em quatro meses. Mais adiante, as promoes III, IV, V e VI se
A formao policial: um desafio democrtico
355
graduaram com a mesma dinmica. Estes grupos engrossaram as cifras
de funcionrios e funcionrias policiais. De 1.200 policiais no estado Aragua,
em 1997, passaram a dois mil homens e mulheres com autoridade de
polcia em 1998. Este processo foi interrompido e se retomou no ano
2001 por vrias razes: 1) a sociedade estava reclamando mais policiais,
maior eficincia; 2) a pirmide organizacional estava invertida. Havia mais
oficiais que pessoal de base.
A deciso foi pr em marcha um plano de formao policial
acelerado em convnio com: 1) A Escola de Formao Policial, vinculada
ao Ministrio do Interior e da Justia, com sedes prprias; 2) A Escola de
Segurana e Ordem Pblica da Guarda Nacional e com algumas comisarias
em particular. Estes cursos conseguiram aumentar em 120% o pessoal
policial no estado Aragua.
Todos os cursos foram improvisados e nunca se fez um desenho
nico, pensando na funo policial e o perfil da polcia. Em todos se
apresentavam os mesmos problemas, a saber:
1. O ingresso: Os requisitos e procedimentos so
discricionais. Algumas vezes aplicam provas
psicotcnicas, prova de rendimento fsico, exame
mdico. Outras provas so realizadas pelo aspirante
fora da instituio e que se desconhece sua veracidade
(exames de rotina, exame psicolgico, odontolgico).
Os documentos que se exigem para o ingresso no
so verificados por nenhuma dependncia da polcia
(ttulo educacional, comprovante de residncia,
certificado de antecedentes, entre outras). No se
realizam provas de conhecimento geral. Nem a altura,
nem a idade so elementos considerados na hora de
fazer a seleo. Muitos ingressam apadrinhados por
funcionrios e funcionrias oficiais ou por contato
poltico.
2. Nmero de aspirantes/nvel acadmico. Em
ocasies, tem se realizado cursos com 450
participantes com diferentes nveis acadmicos,
inclusive alguns no alcanam o mnimo exigido
Comissria Aimara Aguilar
356
(bacharelado);
3. Continuidade: A falta de continuidade na formao
um srio problema por que no h exigncias
acadmicas para que o funcionrio possa ascender
dentro da instituio.
4. Espao fsico: A formao se realiza em espaos
no adequados para o treinamento requerido, pois em
alguns lugares nem sequer existem reas desportivas
nem espaos para o treinamento de tiro e em ocasies
esto amontoados nos dormitrios, salas de aula,
refeitrios, entre outros.
5. Perfil dos professores. Os professores no tm
nvel acadmico, no tm componente pedaggico,
muitos no tm domnio do tema sobre os direitos
humanos e muito menos das reas vinculadas com a
ao policial.
6. Transversalidade dos direitos humanos: at
agora os direitos humanos so uma disciplina, mas no
foram transversalizados em todas as outras disciplinas
nas quais podem ser tratados.
7. Crescimento pessoal. Nem sempre se agrega nos
programas de formao o aspecto do crescimento
pessoal, porm muito importante para que ele crie
sentido de pertencimento e seja coerente entre o que
diz, o que sente e suas aes.
8. Recursos. Um dos maiores problemas que enfrenta
a formao a falta de recursos para a) o salrio digno
para professores, b) a aquisio de equipamentos
didticos e telemticos, c) a atualizao de tecnologia,
d) bibliotecas, e) sales ou locais de simulao (abertos
ou fechados) que faam mais vivencial e prtica a
formao baseada em experincias, f) a destinao de
equipamento policial.
9. Estgios. Os estgios se realizam em comisarias,
A formao policial: um desafio democrtico
357
mas quando os aspirantes comeam a trabalhar se do
conta que tudo o que aprenderam na escola no serve
de nada, por que h cdigos de comportamento que
devem ser respeitados porque, do contrrio, sero
expulsos do grupo. Os aspirantes vem um modelo
de polcia que no precisamente exemplar. Nas
comisarias no h vocao de formao com os
aspirantes.
10. A militarizao. Existem diversos regimes de
permanncia, mas em geral fazem um regime interno,
com sadas nos fins de semana. Herdamos das
corporaes militares uma disciplina vista desde a
ridicularizao, a tortura e os vexames. A militarizao
do enfoque pedaggico s ensina a obedecer e acatar
ordens e no dialogar, discutir, deliberar, resolver
conflitos por via da negociao.
Muitos destes problemas devem ser resolvidos, como asseguram
El Achkar e Gonzlez (2007), por via da padronizao nacional com uma
lei que unifique critrios em torno de uma matriz curricular (a qual deve
ajustar-se ao novo modelo policial): fundamentos, propsitos, contedos,
enfoque pedaggico, plano de estudo, carga horria, modalidade, sistema
de avaliao, corpo docente, materiais educativos, centros de formao,
regime e modalidade educativa. Padronizao tambm dos requisitos de
ingresso e dos mecanismos e processos de seleo do pessoal policial.
Assinalam nossos autores de referncia que a polcia uma instituio
pblica e civil, orientada pelos princpios de permanncia, eficincia,
universalismo, democracia e participao, controle de desempenho e
avaliao de acordo com processos e padres definidos e submetida a
um processo de planificao e desenvolvimento em funo das
necessidades nacionais, estaduais e municipais, dentro do marco da
Constituio Nacional e dos Tratados e Princpios Internacionais sobre a
proteo dos direitos humanos. Nesse sentido, a formao deve apontar
a formao de um policial que assuma estes princpios institucionais desde
sua prpria prtica. Em conseqncia, a escola policial h de refletir a
nova cultura policial, tanto em sua filosofia e regulamentos, como na relao
cotidiana e nas regras informais (2007).
Comissria Aimara Aguilar
358
Para concluir, quero reformular a pergunta com vocs para pensar
um pouco na formao policial. Qual o melhor sistema de formao de
um policial para o exerccio da funo pblica de segurana cidad em
uma democracia?
Referncias bibliogrficas
GABADN Luis Gerardo y Antillano Andrs. Comisin Nacional para la Reforma Policial
(2007) La polica venezolana. Desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del
tercer milenio. Ministerio de Interior y Justicia en Venezuela.
EL ACHKAR Soraya e GONZALEZ Humberto Comisin Nacional para la Reforma Policial
(2007). La formacin policial: perspectiva histrica y realidad actual. Ministerio de Interior y
Justicia en Venezuela.
A formao policial: um desafio democrtico
359
N
I
C
A
R
G
U
A
Relato Policial
O ENFOQUE DE GNERO NA FORMAO DA
POLCIA NACIONAL DA NICARGUA
Elizabeth Rodriguez Obando
*
I. INTRODUO
O enfoque de gnero na Polcia Nacional tem sido uma ferramenta de
anlise das diversas formas de discriminao e desigualdade de gnero,
permitindo tomar decises na gesto institucional, nos orientado em direo
a uma mudana, a transformao profunda nas relaes de homens e mulheres
no interior da nossa instituio policial e na prestao de servios policiais.
uma mudana de atitude diante da vida, em nvel pessoal e trabalhista.
O enfoque de gnero na Polcia Nacional de Nicargua est
orientado pra potencializar as capacidades de seus recursos humanos,
em funo de garantir sua plena participao em igualdade de condies e
oportunidades entre homens e mulheres no mbito interno e, ao mesmo
tempo, continuar transformando condutas, atitudes e prticas no trabalho
policial em relao aos servios prestados sociedade nicaragense.
Por isso, o propsito principal de expor o caso de eqdade de
gnero no sistema de formao policial que sirva de experincia a outras
instituies policiais da rea centro-americana para aumentar o contingente
feminino na polcia. Esta a experincia que a Polcia Nacional de Nicargua
denominou EXPERINCIA DEMONSTRATIVA.
II. RESENHA DO ENFOQUE DE GNERO NA POLCIA NACIONAL
A Polcia Nacional decidiu incorporar o enfoque de gnero por estar
convencida de sua justia e reconhecer os benefcios para a modernizao
institucional. O papel da mulher, em condies de igualdade em relao
ao homem, um elemento vital para a modernizao da instituio, neste
processo identificamos fatores que o facilitaram:
Abertura e deciso do Estado-Maior Nacional
Abertura de chefes (as), que se comprometeram e
participaram das mudanas propostas.
*
Inspetora de Polcia, diretora da Academia de Polcia.
360
Vontade institucional e pessoal de estar sempre
abertos auto-reflexo e mudana, a fim de avanar
no fortalecimento institucional
Iniciativa e envolvimento das mulheres da Polcia
Nacional.
Desenvolvimento alcanado pelo movimento de
mulheres na Nicargua.
III. ANTECEDENTES DO CASO:
Em 1990 se iniciam os primeiros passos a partir de inquietudes na
polcia Nacional e atendendo as demandas particulares de segurana humana
das mulheres no pas.
Entre 1990 e 1993, as mulheres policiais se tornaram promotoras
de iniciativas e propuseram ao Estado-Maior Nacional que o problema da
violncia intra-familiar fosse abordada na Instituio, com mtodos de
preveno e ateno direta. Surgem, assim, em 1993. as Delegacias da
Mulher e da Criana (DMC) como resultado dos esforos conjuntos entre
o Instituto Nicaragense da Mulher (INIM), a Rede de Mulheres contra a
Violncia e a Polcia Nacional, atendendo a necessidade de enfrentar os
riscos especficos que para sua segurana implica ser mulher e atender de
forma diferenciada suas demandas de segurana cidad.
O processo de incorporao do enfoque de gnero na prestao
dos servios policiais tem incio com a Lei 228 da Polcia Nacional em seu
Artigo 21 que estabelece um contexto jurdico e legal atuao policial na
ateno violncia intra-familiar e sexual mediante a institucionalizao
das Delegacias da Mulher e da Criana.
Mas somente em 1996 que se assume formalmente o enfoque de
gnero como uma perspectiva de desenvolvimento e mudana de
conscincia de gnero em nossa Instituio Policial
IV. CASO EXPERINCIA DEMONSTRATIVA:
O sistema de formao policial que contribui para o
fortalecimento da Segurana Cidad do pas, formando as e os aspirantes
O Enfoque de Gnero na Formao da Policia Nacional da Nicargua
361
com base em competncias que garantam sua clara vocao como
servidores pblicos. De fato, a Academia de Polcia Walter Mendoza
Martnez, Instituto de Estudos Superiores da Polcia Nacional de Nicargua
foi uma das primeiras instncias envolvidas no pas no trabalho institucional
de gnero.
4.1. Causas da diminuio da entrada feminina
Em 2000, 11.3% do total de foras que entraram na Academia
eram mulheres. Em 2001, mediante a implementao de uma ao
afirmativa (curso bsico exclusivo para mulheres), alcanou-se 26.7%.
Em 2002, caiu 20.3% e em 2003 caiu novamente mais 17.4%. Esta
tendncia implicou uma diminuio do pessoal policial feminino nos
seguintes anos.
Causas da diminuio: Primeiro: o aumento do nvel acadmico
requerido para entrar, embora no tenha afetado no nmero de aspirantes
com um nvel acadmico superior, afetou a entrada das mulheres, no porque
as mulheres no tivessem o nvel acadmico requerido, mas porque este
nvel representa uma oportunidade para as mulheres de procurar outras
carreiras mais adequadas para as mulheres e com menos risco. Segundo:
a vigncia de esquemas de gnero enraizados na sociedade nicaragense.
4.2. Necessidade de mudana:
A Polcia Nacional da Nicargua assumiu o enfoque de gnero no
apenas por ser um direito humano, mas porque o considera uma estratgia
para a construo de uma sociedade mais justa e desenvolvida.
4.3. Fases da experincia demonstrativa:
As fases que foram desenvolvidas nesta experincia:
1. Fase de Diagnstico: identificao de brechas de gnero
no processo convocatrio, seleo e verificao de pessoal.
2. Fase de Sensibilizao e Capacitao dos recursos
humanos envolvidos no processo. Capacitao para os
recursos humanos em temas relativos equidade de gnero.
3. Fase Tcnica para a melhora dos processos de entrada na
Academia de Polcia.
Elizabeth Rodriguez Obando
362
3.1. Campanha publicitria que transmitisse a idia que
o trabalho policial pode ser exercido por homens e
mulheres, e que, alm disso, tambm uma carreira
profissional como outras.
3.2. Incorporao de novos instrumentos psicolgicos
que permitam conhecer melhor o perfil dos e das
aspirantes, e poder avaliar se coincide com o perfil
requerido para ser polcia.
3.3. Realizao do processo de verificao sem
preconceitos de gnero, o qual requer capacitao de
recursos humanos e de gnero.
4. Fase no processo de formao:
4.1. Formao de equipe multidisciplinar
4.2. Acompanhamento psicosocial aos/s estudantes
do curso bsico na Academia de Polcia.
4.3. Realizao de dinmicas de grupos para facilitar
sua adaptao.
4.4. Realizao de oficinas sobre auto-estima e
liderana.
4.4. Breve explicao da experincia
Produto da diminuio da entrada do pessoal feminino na
Instituio Policial, identificado na etapa de diagnstico, observou-se
que um dos aspectos-chave era o pessoal envolvido no processo de
seleo, que com freqncia reproduzia inconscientemente esquemas
sociais de gnero que incidiam nas decises institucionais.
Um caso claro o que acontecia na etapa de verificao, onde
se apresentavam situaes desvantajosas para as mulheres. Por
exemplo, se o oficial verificador perguntava pelo comportamento de
uma aspirante na comunidade e as pessoas diziam que era me solteira
e/ou tinha um trabalho informal como, por exemplo, vendedora de
loteria, o oficial anotava em sua ficha que esta pessoa no era uma boa
O Enfoque de Gnero na Formao da Policia Nacional da Nicargua
363
me por que deixava seu filho (a) sob o cuidado de outras pessoas,
que no tinha boa reputao por no ter uma relao estvel, portanto
no era recomendvel para entrar na polcia. No entanto, no caso dos
homens nunca se registrou um caso parecido.
4.5. Estratgias chave para o sucesso
4.5.1. Liderana do EstadoMaior Nacional da Polcia
4.5.2. Envolvimento das principais autoridades nas
reas envolvidas, Diviso de Pessoal, Academia de
Polcia, Relaes Publicas, GTZ.
4.5.3. Li derana e compromi sso das mul heres
policiais.
4.6. Situao atual:
Com esta experi nci a se estabel eceram mudanas nos
procedimentos e na meta de recrutamento de mulheres para 2004,
estabelecendo uma meta de recrutamento para a entrada na Academia
de Polcia de 30 %. Nos ltimos trs anos, aps colocar em prtica
esta experincia, os resultados para a entrada na Academia de Polcia
Walter Mendoza Martnez Instituto de Estudos Superiores da Polcia
Nacional de Nicargua tem sido a seguinte: em 2004, 33%, em 2005,
31% e, em 2006, 26%. Como possvel observar no ultimo ano houve
um variante de 4%, mesmo assim, nos trs anos foi possvel manter a
meta proposta de 30% na entrada no curso bsico da Academia de
Polcia.
importante mencionar que 2006 foi o ultimo ano do curso
bsico de Polcia realizado, e, nesse mesmo, ano se empreendeu uma
nova etapa dos processos de formao policial, no qual se implementou
o Curso Tcnico Mdio Policial, que traz mudanas positivas em termos
de contedo, metodologia e tempo de realizao. O curso para entrada
na Polcia Nacional eleva seu nvel em funo da prestao de um servio
cada vez melhor comunidade.
Atualmente, em relao ao Curso Tcnico Policial, que tem uma durao
de um ano letivo, a entrada de mulheres no curso se mantm em 25%.
Elizabeth Rodriguez Obando
364
V. LIES APRENDIDAS
O sucesso desta experincia e a liderana do Estado-Maior provam
que se h vontade poltica no primeiro nvel hierrquico da instituio
possvel realizar mudanas com sucesso.
A eficincia de trabalhar em equipes interdisciplinares trouxe
consigo experincias, aprendizagem e resultou em decises importantes
no processo.
imprescindvel sempre trabalhar a parte educativa que sensibiliza
os seres humanos de que somos capazes de realizar mudanas e melhoras.
Este tipo de experincia no pode ser de curto prazo ou pontual,
e deve ser sustentvel.
A Instituio no uma ilha, somos parte de uma sociedade onde
persistem os preconceitos de gnero e se queremos incidir no interior
da mesma temos que levar em conta como a nossa sociedade se coloca
no tema.
O Enfoque de Gnero na Formao da Policia Nacional da Nicargua
365
M
X
I
C
O
Artigo
CONTROLES INTERNOS POLICIAIS OU COMO A
POLCIA VIGIA A POLCIA.
Ernesto Lpez Portillo Vargas
*
e Vernica Martnez Solares
**
in this respect, police brutality is like police corruption there
may be some rotten apples, but usually the barrel itself is rotten.
1
creating effective disciplinary systems within the police should be
a first- order priority.
2
Durante a segunda metade do sculo XX o controle do
comportamento policial foi considerado um dos temas fundamentais
para garantir um desempenho profissional e respeitoso dos direitos
humanos por parte dos oficiais. Recentes perspectivas tericas
sugerem que os controles efetivos somente so possveis dentro de
sistemas complementares, internos e externos, que devem propiciar
a aprendizagem, dentro de um esquema institucional onde o princpio
de accountability tem um papel operativo e organizador amplo.
3
Hoje possvel encontrar esquemas complexos a respeito das
modalidades e categorias do controle policial, embora a teoria
coincida em designar-lhes de forma direta um valor essencial para a
conteno de abusos, e indireta para o desenvolvimento e o
crescimento institucional. Uma vez que as atribuies da polcia a
tornam um instrumento do exerccio do monoplio legtimo da fora
do Estado, os controles sobre ela para evitar desvios adquirem um
valor crtico em um regime democrtico e de direito.
I. INTRODUO
4
Cada vez mais a literatura relacionada polcia enfoca as reas
problemticas da conduta policial, especialmente a corrupo e o abuso
de poder. Tal aproximao no uma casualidade. Embora seja verdade
que grande parte da literatura da primeira metade do sculo passado teve
como interesse primordial uma aproximao histrica para logo avanar
*
Presidente fundador do Instituto para a Segurana e a Democracia www.insyde.org.mx- e
consultor internacional em reforma policial
**
candidata a doutora em direito pelo Instituto de Investigaes Jurdicas da Universidade
Nacional Autnoma do Mxico
366
sobre o mbito normativo, pouco a pouco, um maior nmero de pesquisas
comeou a focar no s o papel e as funes da polcia, vistas a partir de
estruturas formais, mas tambm a cultura, as estratgias, os desvios, a
tica e o controle policial (tanto da polcia como instituio, como da
conduta de seus elementos) e, como conseqncia, sua reforma
institucional com uma perspectiva invariavelmente democrtica (Bayley,
2001, Okudzeto, 2005).
Esse processo, de acordo com Kelling e More (Newburn, 2005:88-
108) atravessa trs etapas: a era poltica, a era da reforma e a era da
soluo comunitria de conflitos. No entanto, apesar dos avanos
democrticos na etapa de reforma e inclusive na ltima, dois elementos
no perdem sua validade e, pelo contrrio, ganham cada vez maior
importncia: o entendimento e a anlise da m conduta policial, seja por
corrupo ou abuso de poder e, de maneira mais recente e crescente, as
formas de control-la (Okudzeto, 2005; Varenik, 2005; Neild, s/a).
A resposta s denncias e queixas por m conduta policial teve, at
a segunda metade do sculo passado, um retorno informal. O relatrio
da Royal Commission on the Police, produto do debate realizado entre
1959 e 1964 (Marshall em Newburn, 2005: 624), no Reino Unido, colocou
sobre a mesa a pergunta fundamental sobre " como e para quem a
polcia deve prestar contas de sua atividade?", o que derivou numa
"estrutura tripartida" de prestao de contas (Chief Constable, the Home
Office, and the Police Authority, modificado pelo Police Reforms Act 2002
que criou a Independent Police Compalints Commission). E do outro lado,
a McCone Commission -1965- (Neild, s/a) em Los Angeles, Estados
Unidos, aps os distrbios dos anos 60 "props a criao de um
mecanismo interno de verificao".
O surgimento de mecanismos de controle uma reao natural
diante dos abusos policiais e da corrupo. produto, assim, da
democratizao de todas as estruturas da autoridade estatal, incluindo o
lado mais exposto dos regimes autoritrios: a polcia.
A preocupao pelo controle da atividade policial teve seu reflexo
jurdico internacional no Cdigo de Conduta para Funcionrios
encarregados de Fazer Cumprir a Lei de 1979 (artigo 8 c), para ser
ratificada posteriormente nos Princpios Bsicos Sobre o Uso da Fora e
Controles internos policiais ou como a polcia vigia a polcia.
367
de Armas de Fogo pelos Funcionrios Encarregados de Fazer Cumprir a
Lei (1990, especial ateno ao nmero 25).
Como podemos observar, as idias do controle (accountability
policial) e de sua implementao efetiva so novas. Como todo processo,
est marcado por sucessos e fracassos, sobretudo no que se refere a sua
implementao nas diversas estruturas, sistemas e estratgias de operao.
Latu sensu, os controles policiais esto divididos em externos e
internos sobre o qual falaremos mais adiante - (Gareth, 2005; Neild, s/
a; Varenik, 2005; Cano, s/a) e esses, por sua vez, em formais e informais
(ver figura 1).
De qualquer maneira, h quase meio sculo da idia do controle e
da prestao de contas, a maquinaria policial e a dos rgos encarregados
de fazer cumprir a lei apresentam problemas para a construo de uma
teoria de accountability democrtica, em grande parte devido diversidade
das instituies, mecanismos, processos e procedimentos; mas tambm
devido aos mltiplos desafios que devem enfrentar na prtica e que, apesar
de bases legais slidas, as impedem de funcionar adequadamente (Punch,
2003; Skolnick e Fyfe em Newburn, 2005;) tanto no que se refere ao
desempenho quanto conduta policial, especialmente em pases sob
transio democrtica ou em situao de ps-conflito (Gareth, 2005:2,
Cano, s/a; Caparini, 2003; Call, 2003, Oneill, 2005).
A histria dos esforos em desenvolver a noo de accountability
na polcia tem dois captulos: a primeira e a segunda metade do sculo
XX. Na primeira metade tais esforos se caracterizaram por ser
conjunturais e, geralmente, como conseqncia de comisses temporrias
formadas para enfrentar um escndalo. As recomendaes que surgiam
no eram acompanhadas de mecanismos que forassem sua aplicao,
que revisassem ou que guiassem sua implementao. O impacto era
portanto limitado. Constitua um ciclo: escndalo, criao de uma comisso,
implementao inadequada das mudanas propostas, ressurgimento do
problema, novo escndalo e assim sucessivamente.
This pattern persists today: Rodney Kings public beating led to
careful findings by the Christopher Commission,
5
followed by the LAPDs
questionable effort to fix the problems, and ten years later, the massive
Ernesto Lpez Portillo Vargas
e Vernica Martnez Solares
368
Ramparts scandal which in many ways was more harmful to the police
and the criminal justice in Los Angeles
1
(Varenik 2006).
No entanto, no final da dcada de 60, segundo o autor, comearam
os esforos para a criao de mecanismos permanentes de accountability,
primeiro atravs de controles externos, focados no recebimento e, em
alguns casos, na investigao de queixas cidads contra a polcia. Ao longo
do tempo, os limites dos controles externos se tornaram evidentes nas
cadeias internas do comando policial, mas a lio ficou clara: era necessrio
criar mecanismos permanentes de accountability para garantir a ateno
necessria aos problemas associados ao controle policial. H um acmulo
de aprendizagem importante, em particular durante os ltimos 30 anos.
Varenik apresenta um conjunto de lies, entre elas:
Para alcanar modelos sustentveis de accountability, a polcia deve
ser sujeito e objeto dos processos de reforma. Devemos conseguir que a
polcia assuma um papel que garanta o sucesso das reformas por meio de
sistemas apropriados de controle e prestao de contas.
Focar exclusivamente casos um meio ineficiente para acabar com
a m conduta policial ou promover boas prticas. O argumento simples:
as ms condutas da polcia tm por trs aspectos institucionais fundamentais
(a seleo, o treinamento, os incentivos, a cultura policial, a superviso,
etc.), que devem ser abordados mediante estratgias de maior impacto.
Na prtica, accountability requer mltiplos mecanismos, internos e
externos, relacionados por meio de sistemas que permitam sua
complementao.
A relevncia de tal complementao extraordinria, porque um
sistema desequilibrado de controles internos e externos pode, em vez de
fortalecer, debilitar alguns deles ou ambos.
Although we have emphasized here the importance of developing
internal mechanisms its also necessary to underline that these mechanisms
will function better if theyre subject to a constructive regimen of review,
audit, analysis and constructive input. Sadly, its probable in any force
that cases will arise in which the internal system does not function as we
would like and where it will be necessary to have the external capacity to
Controles internos policiais ou como a polcia vigia a polcia.
369
ensure investigation, resolution and communication to the public and the
police. If there is one indisputable truth arising from long experience in
this area, its that we need to strike a healthy balance between ultimately
ensuring the primary role of internal mechanisms in controlling police
conduct and maintaining vibrant external mechanisms whose scrutiny and
pressure will act as a spur on the police to keep the house in order
(Varenik 2006).
As implicaes de accountability incluem percepo, investigao,
vigilncia e anlise da conduta, seja boa ou m, e a imposio das
conseqncias necessrias para que o oficial e a instituio como um todo
assimilem na prtica as lies de sua experincia. Isso implica, por um
lado, o sistema disciplinar punio e prmios- porm, muito mais
importante a construo de sistemas slidos de fluxo de informao e
anlise, de comunicao e gesto estratgica, de maneira que as polticas,
o treinamento, os valores e os comandos das instituies policiais se
reflitam na prtica de todo o pessoal. Essa perspectiva centraliza o princpio
de accountability, como uma plataforma que garante o controle, o
escrutnio e a responsabilidade da polcia pelas aes que realiza. Mas vai
alm e abrange o valor da aprendizagem como um processo para a melhora
contnua e a manuteno de um dilogo que seja transparente, informado
e mutuamente respeitoso entre a polcia e os promotores de instituies
policiais que respeitam os direitos (Varenik 2006).
Trata-se de transcender a idia que considera apenas um treinamento
eficiente e um bom pessoal como os melhores instrumentos para minimizar
os riscos associados funo policial, para pensar em instituies que
revisam e analisam suas prticas, comunicam seus resultados e somam
conseqncias a suas concluses, e assim garantem boas prticas nas ruas.
Trata-se de uma combinao: normas e polticas claras com processos de
reviso e deciso que permitam instituio orientar melhor a seus oficiais.
Os indicadores que podem ser derivados desse processo de reviso e
anlise fortalecem a estrutura de accountability porque permitem uma
melhor avaliao sobre como os indivduos, as unidades e a instituio em
seu conjunto se comportam. (Varenik 2006).
A seguir faremos uma descrio e breve anlise dos denominados
controles internos policiais (CIP), tambm conhecidos como accountability
ou superviso interna, no sem antes ressaltar que qualquer mecanismo
Ernesto Lpez Portillo Vargas
e Vernica Martnez Solares
370
eficaz de vigilncia refora uma atividade policial efetiva e respeitosa, j
que favorece a cooperao com a cidadania e diminui a violao dos direitos
fundamentais.
II. DEFINIO E CARACTERSTICAS DOS CONTROLES INTERNOS
DA POLCIA (CIP).
De acordo com Bayley (em Varenik, 2005: 31-sigs.), as modalidades
de controle podem ser vistas da seguinte maneira:
Figura 1.
A amplitude estrutural fica reduzida definio proporcionada por
diversos autores dos CIP. Neild (s/a) os define como aqueles que "em
linhas gerais, regulam e orientam as atividades cotidianas da instituio,
tratam casos particulares de abuso, e podem colaborar na anlise e
transformao de procedimentos e sistemas administrativos e reguladores
Controles internos policiais ou como a polcia vigia a polcia.
371
para refinar a capacidade policial, melhorar seu desempenho e eficincia,
e elevar sua conduta tica."
Varenik (2005:32) assinala que "accountability interna a
capacidade de uma corporao de polcia de investigar a m conduta de
seus prprios agentes, e sua capacidade para examinar e controlar seu
uso da fora, atributo que o diferencia de outras entidades civis."
Para Caparini (2003:5), a forma de controle interno, o autocontrole
policial, "refere-se socializao dos oficiais de polcia e interiorizao
das normas e da tica policial democrtica atravs do treinamento,
educao, nveis de profissionalizao, o exemplo dado pelos oficiais
mai s anti gos, e a cul tura dentro da organi zao pol i ci al , mai s
amplamente."
Call (2003:9), por seu lado, afirma que os mecanismos internos
de vigilncia "incluem qualquer unidade interna que investiga ou relata as
infraes cometidas pelo pessoal de polcia (por exemplo, Unidades
Disciplinares, Assuntos Internos, etc)."
Para a International Advisory Commission of the Commonwealth
Human Rights Initiative (Okudzeto, 2005:60, no mesmo sentido Gareth,
2005), dois mecanismos definem a accountability interna:
o ambiente disciplinar, construdo em base ao aparato
formal para reprimir e censurar a m conduta policial
e pela cultura informal que prevalece na instituio e
a relativamente nova tcnica do controle gerencial do
desempenho policial, atravs da configurao dos
objetivos e da anlise estatstica (indicadores de gesto
e qualidade).
A informao que deriva dos indicadores de disciplina policial
(information managment systems ou sistemas de early warning) so
de grande importncia na medida que proporcionam elementos para a
preveno da m conduta, o desenho de pol ti cas de sel eo,
capacitao, atualizao, premiao e promoo de agentes, assim como
de punies; e, claro, a melhora institucional, tanto na resposta s
demandas cidads quanto nos procedimentos internos de controle.
Ernesto Lpez Portillo Vargas
e Vernica Martnez Solares
372
Caractersticas
De acordo com Neild (s/a), as caractersticas gerais so as seguintes:
so mecanismos administrativos (Caparini, 2003)
esto estabelecidos nas leis orgnicas da polcia,
regulamentos disciplinares, regulamentos operativos ou
cdigos de tica (nesse sentido, Alemika e Chukwuma,
2003)
so regidos por leis nacionais e internacionais, inclusive
a jurisprudncia (princpio bsico da legalidade, rule of
law ou due process, ver Okudzeto, 2005:53)
regulam processos disciplinares (Neild, s/a; Varenik,
2005:32; Caparini 2003:5, Call, 2003:9; Okudzeto,
2005:60; Gareth, 2005)
as regras no so consistentes: infraes menores/
infraes graves; centralizada/descentralizada (Neild,
s/a)
podem ser verticais (disciplina exercida por linha de
comando) ou horizontais (mecanismos internos
especializados em disciplina ouvidorias gerais,
unidades disciplinares ou de controle e departamentos
de responsabilidade profissional); centralizados,
descentralizados ou de criao discricionria.
No entanto, existem elementos chave para seu bom funcionamento:
vontade poltica (Neild, s/a; Alemika e Chukwuma,
2003: 52)
liderana (Neild, s/a; Bayley, 2001:20
6
; US Department
of Justice, 2001:11; Okudzeto, 2005:63, 65)
independncia (Neild, s/a; Oneill, 2005:7)
confiabilidade (Neild, s/a; Varenik, 2005:41)
transparncia (Cano, s/a, Neild, s/a, Varenik, 2005;
Okudzeto, 2005:65, 66)
Controles internos policiais ou como a polcia vigia a polcia.
373
objetivos imparciais (US Department, 2001:8, Varenik,
2005: 41; Okudzeto, 2005:66)
eficincia (Oneill, 2005:7)
baseados no princpio de segurana jurdica (Neild, s/
a, Varenik: 2005:41)
conta com pessoal idneo e bem capacitado,
profissional (Neild, s/a, Okudzeto, 2005:66)
baseados num sistema gerencial idneo (Okudzeto,
2005:66)
Alguns elementos que dificultam o bom funcionamento dos CIP
Varenik (2005) identifica um ponto central no registro da
informao: qualidade, constncia e sistematizao. Neild (s/a), por sua
vez, aponta o alto hermetismo e confidencialidade nos processos como
duas barreiras relacionadas informao (especialmente pela fragilidade
do controle devido ao nmero de casos, sobre os tipos de denncia,
nome e cargo do oficial, estado da investigao ou julgamento, coeso e
proporo da punio. A qualidade da informao necessria na preveno
de abusos: anlise de dados para identificar padres, qualidade da gesto
policial e a administrao da fora e prticas operativas nocivas.)
Por sua vez, Okudzeto (2005:53-56), identifica os seguintes pontos
fracos na prtica:
estruturas hierrquicas rgidas
problemas na implementao, especialmente os
relativos cultura institucional particular (falta de
vontade, processos obscuros, manipulao da evidncia)
liderana
regulamentao imprecisa sobre a gravidade das faltas
secrecy ou cdigo do silncio
os problemas da investigao e uso da informao
Ernesto Lpez Portillo Vargas
e Vernica Martnez Solares
374
Os cinco valores bsicos so (Okudzeto, 2005:66):
clareza nos objetivos da organizao
transparncia
visibilidade e respeito aos limites da atividade policial
responsabilidade. Cada membro pessoalmente
fiscalizvel em relao a suas aes
empoderamento. A tomada de decises deve ser
baseada na prtica.
"O abuso policial pode ser corrigido eficazmente com uma
dupla estratgia: por um lado, a punio dos indivduos responsveis
por abusos e, por outro, a correo das fraquezas institucionais ou
de uma prtica policial nociva. O primeiro requer que as autoridades
judiciais e policiais estejam dispostas a investigar e punir o crime. O
segundo pode ser alcanado atravs de uma ampla gama de
medidas, como uma boa capacitao ou a reforma de regulamentos
e a adoo de novos modelos policiais como aqueles chamados
community policing (polcia comunitria)."
III. MODELOS DE CIP
Os CIP so convencionalmente vistos como uma medida contra a
corrupo e os abusos policiais, e como sistema de aperfeioamento
profissional, conceito dominante a respeito de todo mecanismo de
accountability.
"A responsabilidade de todo governo manter uma polcia
sob accountabi l i ty. Mas responsabi l i dade dos pol i ci ai s
assegurarem que os sistemas internos garantam disciplina, bom
desempenho e um bom ambi ente na ati vi dade pol i ci al .
Convencionalmente, os sistemas internos dependem quase
exclusivamente da investigao policial de outros policiais. Sua
eficincia reflete o grau de compromisso da polcia em manter
os mais altos nveis de desempenho de suas funes." (Okudzeto,
2005:60).
Controles internos policiais ou como a polcia vigia a polcia.
375
Varenik (2005:55-60) proporciona um modelo genrico muito
didtico:
admisso
processamento
disposio
reviso
Para Okudzeto (2005:52) o sistema interno, ao lidar com a m
conduta sria, se divide em quatro partes:
queixa
investigao
audincia
apelao
Ambos os autores coincidem no contedo do processo (Okudzeto,
2005; Varenik, 2005; Neild, s/a).
Figura 2.
Ernesto Lpez Portillo Vargas
e Vernica Martnez Solares
acesso
376
Existem duas formas de lidar com as queixas (Neild, s/a):
ofensas menores. Investigadas pelo imediato superior
hierrquico
ofensas srias. Geralmente so investigadas por
agncias fora da cadeia de comando tais como uma
unidade de investigao interna dentro da organizao
policial, comits disciplinares ad-hoc, compostos por
oficiais policiais mais antigos; ou por agncias externas.
Todos seguem as regras do devido processo.
Relao entre os CIP e os Controles Externos
Os CIP e os controles externos no so excludentes nem
contraditrios, pelo contrrio, ambos so importantes, necessrios e
complementares (Bayley, 1985: 158, Call, 2003:9, Oneill, 2005:7; Alemita
e Chukwuma, 2003:56). A experincia demonstra que sem mecanismos
externos muito provvel que os internos tenham absoluta
discricionariedade para determinar quais assuntos so suscetveis de
investigao e quais no, o que pode ser complicado, especialmente
quando se trata da violao dos direitos humanos, como casos de tortura
ou execues extrajudiciais.
Para Bayley (1985:177-178, tambm Neild, s/a), em princpio os
controles internos so preferveis por trs razes:
esto mais bem informados que os externos;
podem ser mais minuciosos, completos e extensivos;
podem ser mais variados, sutis e diferenciados.
A questo sobre a dificuldade da confiana reside em que nesse
tipo de controle a polcia que se investiga a si prpria (Alemita e
Chukwuma, 2003:55; ), o que pode acarretar numa investigao simplista
e incompleta; em muitos aspectos, reascende o velho conflito sobre "quem
vigia o vigilante", basicamente por trs motivos (Neild, s/a): falta de vontade
poltica, liderana fraca e uma longa tradio repressora (militar e poltica),
especialmente na Amrica Latina.
Controles internos policiais ou como a polcia vigia a polcia.
377
Os sistemas de controle externos so complementares aos CIP
(Gareth, 2005: 3,8, Call, 2003:9; Newham, 2000.). Em todo caso, parece
que estes so os que contam com os melhores instrumentos para lidar
efetiva e rapidamente com os problemas de m conduta e tomar aes
para emend-las. Por sua vez, os controles externos so outra fonte
receptora de queixas e denncias e supervisionam no apenas a ao
policial, mas tambm a prpria ao dos CIP (Neild, s/a).
O sucesso ou fracasso da relao entre ambos reside nas dinmicas de
comunicao de ambos os tipos de controle, ou seja, entre os departamentos
de polcia, a sociedade civil e as instituies de segurana em si.
Em muitos sentidos, as deficincias dos CIP foram compensadas pelos
controles externos (Cano s/a), como as agncias de Direitos Humanos,
mas esses no poderiam funcionar sem a cooperao dos CIP, em grande
medida porque colaboram proporcionando, basicamente, informao.
De qualquer forma, o inegvel que a informao que geram ambos
os meios de controle contribue para a melhora da conduta, tanto
institucional como a dos oficiais: polticas de mudana e recomendaes,
aes corretivas e de reforma, em qualquer etapa do recrutamento ou
seleo para a promoo ou punio.
CIP e democracia
"O policiamento democrtico est baseado na idia de uma
polcia protetora dos direitos dos cidados e vigilante da lei, enquanto
garante a segurana de todos por igual."
7
Dentro das teorias constitucionalistas, alcanar um Estado Social e
Democrtico de Direito (Daz, 1979:29; Croswell e Baltasar, 1996:137)
significa concretizar fundamentalmente, embora no de forma exclusiva,
os seguintes princpios:
imprio da lei: lei como expresso da vontade geral.
diviso de poderes: legislativo, executivo e judicial.
legalidade da administrao: atuao segundo a lei e
controle judicial suficiente.
Ernesto Lpez Portillo Vargas
e Vernica Martnez Solares
378
direitos e liberdades fundamentais: garantia jurdico-
formal e efetiva realizao material
Tais princpios ganham uma importncia maior ainda quando se trata
do uso do monoplio da coero legtima, monoplio que a polcia ostenta
diante da sociedade. Como conseqncia, os Estados tm a obrigao de
implementar medidas especiais no uso da mesma, devido ao fato de que
sua ao deve estar baseada nos interesses da sociedade que protegem e
no nos interesses dos polticos ou dos prprios da instituio.
Os CIP se tornam assim um dos instrumentos fundamentais na
consolidao democrtica das instituies toda vez que incidem a vontade
policial do autocontrole. uma das caractersticas de uma atividade policial
democrtica (so uma base no sistema de pesos e contrapesos que
caracteriza todo sistema democrtico de governabilidade), uma das
maneiras que permite lidar com a m conduta institucional e que, portanto,
gera resultados (Okudzeto, 2005: 27).
"Todo sistema de accountability que funcione bem est
baseado, sobretudo, em mecanismos, processos e procedimentos
de controle interno. Os sistemas de disciplina confiveis, assim como
os apropriados nveis de treinamento e superviso, e sistemas de
monitoramento, avaliao e histrico de desempenho, assim como
registro de informao criminal, criam o aparato necessrio que
mantm o nvel da atividade policial no alto."
" possvel identificar elementos-chave numa estrutura legal slida
para uma atividade policial democrtica e para a accountability da polcia.
Estes so:
o irrestrito respeito aos direitos humanos na definio
dos deveres policiais
procedimentos claros de superviso e controles
democrticos
sistemas disciplinares internos fortes, adequados e
justos
cooperao entre os mecanismos internos e externos
de accountability policial
Controles internos policiais ou como a polcia vigia a polcia.
379
pelo menos uma unidade independente que receba as
queixas a respeito da conduta policial
superviso multipartidria sobre a polcia atravs dos
rgos colegiados, como parlamentos, legislaturas ou
conselhos locais
interao obrigatria entre a polcia e a cidadania"
IV. CONCLUSES
Mais do que concluses, nessa reflexo final queremos lanar um
conjunto de questionamentos que atendem a uma preocupao central:
alcanar a eficincia e legitimidade dos controles policiais, internos e
externos, em instituies policiais cronicamente fracas, como o caso
freqentemente na Amrica Latina, parece um desafio extraordinariamente
complexo; e mais ainda, na medida que a debilidade institucional da polcia
tem sido um fator funcional a seu carter autoritrio intrnseco, estabelecer
controles pode supor processos enormes de reconstruo na polcia,
que incluem desde sua base doutrinria at seus instrumentos operativos
mais especficos. Por isso, perguntamos para o debate:
Como direcionar os policiais a uma autntica apropriao da idia
de que os controles os fortalecem, no os debilitam, quando operam
num contexto institucional que propicia, explora e tolera o abuso?
Como propiciar um alinhamento de expectativas entre a polcia e
os cidados, de forma que os controles funcionem como instrumentos
reguladores capazes de resultar em benefcios recprocos?
Como introduzir o instrumental tcnico necessrio para o
desenvolvimento institucional dos controles internos na polcia, quando
no h experincia nem conhecimento a respeito?
Que mtodo ou mtodos seguir para incentivar dinmicas de
aprendizagem no interior da polcia, em prol do controle de desempenho?
possvel impulsionar a reforma institucional para construir
controles eficientes sem precisar desenvolver uma leitura aprofundada e
informada da cultura policial?
Ernesto Lpez Portillo Vargas
e Vernica Martnez Solares
380
Como induzir na sociedade civil organizada os incentivos
necessrios para habilit-la como contrapeso e controle externo da polcia
quando a sociedade muitas vezes propicia o abuso policial?
Como induzir nos rgos do Estado (legislativo, poder judicial,
ombudsman) um processo de construo de ferramentas para o controle
externo da polcia?
No terreno policial operativo, como operar a mudana de
esquemas estratgicos e tticos historicamente intuitivos e governados
principalmente por controles informais a esquemas tcnicos controlados
por plataformas formais de controle?
Notas
1
Este texto foi elaborado para discusso no curso Questes Contemporneas da Ao Policial:
Desafios para a Amrica Latina. Curso de Liderana para o Desenvolvimento Institucional
Policial, realizado entre 6 e 10 de novembro de 2006 na sede da ONG Viva Rio, Rio de Janeiro,
Brasil. uma plataforma bsica e descritiva sobre os controles internos da polcia no frum
internacional. Est previsto discutir a validade da teoria frente experincia policial concreta
por meio de debates com os policiais que participem do curso, oriundos de cinco pases (Argentina,
Brasil, Colmbia, Chile e Mxico.
2
Bayley, 2001:40. Neste Sentido Neild (s/a) destaca que as CIP devem ser criados e entrar em
operao na primeira etapa no processo da reforma policial.
3
O Instituto para a Segurana e a Democracia mantm uma ampla discusso interna sobre o
conceito e os alcances do termo accountabilty, assim como sobre sua melhor traduo para o
espanhol, no contexto temtico da reforma policial democrtica.
4
Este texto foi elaborado para discusso no curso Questes Contemporneas da Ao Policial:
Desafios para a Amrica Latina. Curso de Liderana para o Desenvolvimento Institucional
Policial, realizado entre 6 e 10 de novembro de 2006 na sede da ONG Viva Rio, Rio de Janeiro,
Brasil. uma plataforma bsica e descritiva sobre os controles internos da polcia no frum
internacional. Est previsto discutir a validade da teoria frente experincia policial concreta
por meio de debates com os policiais que participem do curso, oriundos de cinco pases (Argentina,
Brasil, Colmbia, Chile e Mxico).
5
O relatrio est disponvel em http://www.parc.info/reports/pdf/chistophercommision.pdf
6
O papel do diretor de polcia considerado como " the key to changing any aspect of
policing."
7
Okudzeto, 2005:24
Referncia Bibliogrfica
Alemika, E.E.O., Chukwuma, I.C., ed. (2003). Civilian Oversight and Accountability of Police in
Nigeria. Lagos: Centre for Law Enforcement Education (CLEEN).
Bayley, David H. (1985). Patterns of Policing. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press.
Bayley, David H. (2001). Democratizing the police abroad: what to do and how to do it.
Controles internos policiais ou como a polcia vigia a polcia.
381
Washington: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice.
Call, Charles T. (2003). Challenges in Police Reform: promoting effectiveness and accountability.
NY: International Peace Academy.
Cano, Ignacio (s/a), Police Oversight in Brazil.
Caparini, Marina (2002). Police reform: issues and experiences. Fifth International Security
Forum, Zurich, 14-16 October.
Crosswell Arenas, Mario, Baltasar Samayoa, Salomn (1996). Estado de Derecho y Procuracin
de Justicia, em Crnica Legislativa, ano V, Nueva poca, no. 8, abril-maio, Mxico.
Daz, Elas (1979). Estado de derecho y sociedad contempornea. Madrid: Editorial Cuadernos
para el Dilogo.
Naval, Claire, Salgado Juan (2006). Irregularidades, abusos de poder y maltrato en el Distrito
Federal. La relacin de los agentes policiales y del Ministerio Pblico con la poblacin. Mxico:
Fundar, centro de anlisis e investigacin.
Neild, Rachel. (s/a). Controles internos y rganos disciplinarios policiales. Serie Temas y Debates
en la Reforma de la Seguridad Pblica. Una gua para la sociedad civil. Washington, DC: WOLA.
Newburn, Tim, ed. (2003). The handbook of Policing. UK: Willian Publishing.
Newburn, Tim, ed. (2005). Policing key readings. UK: Willian Publishing.
Newham, Gareth (2000). Towards Understanding and Combating Police Corruption, en Crime
and Conflict. No. 19, pp. 21-25, outono, 2000. Africa do Sul: Centre for the Study of Violence and
reconciliation.
Newham, Gareth (2002). Tackling Police Corruption in South Africa. Africa do Sul: Centre for
the Study of Violence and reconciliation.
Newham, Gareth (2005). Internal Police Systems for Officer Control: A strategic focus area for
improving civilian oversight and police accountability in South Africa. Africa do Sul: Centre for
the Study of Violence and reconciliation.
Oneill, William G (2005). Police reform in port-conflicts societies: what we know and what we
still need to know. NY: International Peace Academy
Okudzeto, Sam, chair (2005). CHIRs relatrio 2005. Police accountability: too important to
neglect, to urgent to delay. India: International Advisory Commission of the Commonwealth
Human Rights Initiative.
Punch, Maurice (2003). Rotten Orchards: Pestilence, Police Misconduct and System Failure.
UK. Routledge, Policing and Society, 2003, Vol. 13, No. 2. pp. 171-196.
Samual e Alpert (2000). Police Accountability: Establishing an Early Warning System.
International City/County Management Association (ICMA) inquiry Sernice. Vol. 32, no. 8.
Agosto 2000.
Us. Department of Justice (2001). Principles for promoting police integrity. Examples of promising
police practices and policies.
Varenik, Robert O. coord. (2005) Accountability. Sistemas policiales de rendicin de cuentas.
Estudio internacional comparado. Mxico: Centro de Investigacin y Docencia Econmicas e
Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Varenik, Robert O. (2006) Toward the best possible police: basic ideas in accountability. Indito.
Ernesto Lpez Portillo Vargas
e Vernica Martnez Solares
382
A
R
G
E
N
T
I
N
A
Comunicao
MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
INTERNO
UM OLHAR DA ARGENTINA
Santiago Veiga
*
e Ignacio Romano
**
INTRODUO
Nos ltimos anos, devido exploso do fenmeno da criminalidade,
tm surgido muitas crticas s foras policiais e de segurana na Argentina
e na regio; vinculadas em sua maioria corrupo, pouco profissionalismo,
limitaes na sua capacidade operativa, e manipulao poltica das mesmas.
Uma situao como essa gerou uma forte demanda social sobre as
autoridades pblicas para que faam as reformas necessrias para elevar
os nveis de qualidade do servio policial; demanda que em alguns casos
foi recebida e transformada em aes no sempre mantidas ao longo do
tempo- e em outros motivou simples mudanas externas nos gabinetes
ministeriais ou na gesto das instituies policiais.
De alguma forma, pela primeira vez em muito tempo, surgiu na
Argentina a conscincia da necessidade de trabalhar com as instituies
envolvidas em favor de uma melhora no rendimento policial diante da
evidncia de que os modelos de gesto vigentes das polcias no geravam
resultados capazes de combater o problema da insegurana.
Enquanto a gama de fatores associados ao aumento da criminalidade
do tipo socioeconmico, demogrfico-cultural e institucional, mais o
efeito acelerador da violncia das drogas e as armas de fogo - operavam
sobre a realidade, as atividades criminosas em alguns casos com a ajuda
da tecnologia- adotaram um comportamento mais dinmico para maximizar
seus lucros e minimizar os riscos. As instituies policiais, enquanto isso,
procuraram livrar-se de um esquema rgido, burocrtico e vertical para
acompanhar de perto as mutaes do crime, o que em alguns casos
puderam cumprir. Novas modalidades criminosas demandam solues
complexas e integrais, que vo alm da questo policial e que de jeito
nenhum podem ser reduzidas a botar mais polcias nas ruas ou comprar
mais viaturas. No que se refere estritamente questo policial, a soluo
*
Lic. em Cincias Polticas, Mestre em Polticas Pblicas e Diretor Executivo Fundao FUNDAR
**
Lic. em Cincias Polticas e Advogado
383
inclui uma gesto mais eficaz e eficiente por parte dos operadores do
sistema, o que supe imediatamente- contar com os meios humanos e
materiais necessrios para esse fim.
Nos pargrafos seguintes se procurar apresentar diversas
ferramentas de controle de gesto policial, incluindo o controle interno.
Posteriormente sero apresentados os desafios impostos a esse tipo de
mecanismos e, por ltimo, se procurar apresentar as razes pelas quais
dificilmente ser possvel melhorar o rendimento policial sem a vontade
poltica dos tomadores de deciso para pr disposio das instituies
policiais e de segurana as condies materiais, mecanismos e incentivos
para desempenhar eficazmente sua funo.
MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO
Assuntos Internos
Todo mecanismo de controle interno nas foras de segurana tem
por objetivo verificar se o pessoal, em todo os nveis, cumpre com as
obrigaes gerais em sua posio de policial, e mais especificamente se
trabalha com eficincia para cumprir com os objetivos impostos pela sua
funo, da vigilncia fixa numa esquina at a direo de uma
Superintendncia.
Talvez o mtodo de controle mais tradicional nas polcias seja o
trabalho de investigao realizado pelas reas de Assuntos Internos. Estas
trabalham normalmente com base na investigao de denncias sobre
desempenho ruim, corrupo, descumprimento dos deveres como
funcionrio pblico, abusos de autoridade etc., mas, surpreendentemente,
em poucos casos so analisadas estatsticas de procedimentos ou resultados
obtidos sobre os objetivos assinalados. Em geral, no realizada uma
avaliao de rendimento ou produtividade para premiar os bons policiais,
mas somente se procura caar os culpados. Ou seja, o trabalho de Assuntos
Internos procura gerar dissuaso e castigo, mas no incentiva o bom
desempenho.
Qualquer polcia que j tenha trabalhado nas ruas e prximo aos
problemas sabe que, para esse sistema de controle quem se esfora por
combater o crime e consegue control-lo em sua jurisdio provavelmente
Santiago Veiga
e Ignacio Romano
384
ter que enfrentar diversas acusaes
1
por abuso de autoridade,
confiscaes ilegais etc. Esse tipo de acusaes, quando injustas,
constituem, no esquema tradicional, manchas na carreira pessoal que pem
em dvida a integridade e capacidade do efetivo, como tambm sua
possibilidade de ascenso dentro da organizao; incentivando ao mesmo
tempo uma poltica da omisso e pouca interveno nos conflitos para
os quais supostamente a polcia foi designada. Os mecanismos tradicionais
de investigao de assuntos internos sobre o pessoal policial normalmente
no so capazes de distinguir nesses casos quem efetivamente abusa de
sua autoridade e quem atua profissionalmente, chegando inclusive a arriscar
sua prpria vida para proteger a comunidade.
O que foi exposto no implica negar a existncia da corrupo policial
e a participao de alguns policias em atividades criminais sendo o
narcotrfico uma das preferidas- por ao ou omisso. No entanto,
Assuntos Internos tambm no funciona bem nesses casos, j que as cpulas
das instituies geralmente s permitem que se investigue superficialmente
para cumprir formalidades, s vezes por conivncia e outras para evitar
escndalos que afetem a instituio. Vide as experincias de policiais
honestos que investigam a corrupo interna e terminam sendo ameaados,
com suas carreiras relegadas e, inclusive, perdem a vida por represlias
ou suas famlias so ameaadas.
O Desafio de um sistema de alerta precoce para Controle Interno
Seguindo algumas recomendaes, as instituies policiais da regio
deveriam avanar em sistemas de alerta precoce combinados com os
mecanismos de assuntos internos - que ajudem a identificar
antecipadamente aqueles policiais com problemas de conduta no
desempenho de suas funes; desenhar mecanismos de interveno com
esses policiais para conseguir mudanas de conduta positivas; reduzir os
casos graves de atuao de assuntos internos; elevar os nveis de controle
e prestao de contas da instituio policial; e melhorar a imagem policial
com a comunidade a partir de uma queda nas reclamaes e denncias
por desempenho ruim.
Um mecanismo de alerta precoce como o proposto deveria servir
como uma grande base de dados para ser consultada pelos supervisores
e comandos hierrquicos da fora policial para identificar aqueles policiais
Mecanismos e procedimentos de controle interno
Um olhar da Argentina
385
cuja conduta problemtica e, se seguirem nessa linha, possivelmente se
envolvero em casos mais graves manchando ainda mais a j desprestigiada
imagem policial. Esse sistema de procedimento administrativo, alm de
permitir identificar os agentes cuja performance ou desempenho resulte
em possveis problemas, deveria permitir tambm uma interveno
apropriada na forma de conselhos ou treinamento- para reverter esse
tipo de falhas. Desse modo, o sistema de alerta precoce funcionaria como
um alarme que possibilita mesma fora policial intervir antecipadamente
e evitar que o policial se coloque numa situao na qual deva receber
sanes disciplinares formais ou se envolva em processos penais.
Esse sistema deveria contar tambm, no mnimo, com trs fases
de ao, de acordo seguinte ordem:
Em primeiro lugar, um processo de seleo de agentes policiais
para participar do programa. De acordo com os indicadores de
desempenho que forem determinados sero identificados agentes policiais
com problemas de conduta leves. A quantidade de reclamaes e denncias
que recebe um agente policial por parte dos cidados num determinado
perodo de tempo deve ser um indicador prioritrio. No entanto, dever
ser utilizada uma combinao de indicadores de desempenho e no
unicamente as reclamaes dos cidados.
Em segunda instncia, um processo de interveno com o agente.
Uma vez identificado o agente policial cuja conduta seja problemtica,
ser efetuada a interveno com o agente para que este possa corrigir seu
comportamento. A interveno dever consistir sempre numa medida
no disciplinari. A estratgia bsica de interveno dever combinar
dissuaso, educao e do treinamento. Por meio da dissuaso, os agentes
que forem sujeitos da interveno modificaro seu comportamento ao
perceber a possibilidade de ser castigados. Por meio da educao e o
treinamento, se ajudar os a gentes que participem do programa a melhorar
seu desempenho profissional. A primeira interveno pode consistir numa
avaliao de desempenho pelo oficial imediatamente superior. Alm disso,
devem ser implementados cursos de treinamento para quem participe
do programa, os quais devem incluir temas como atitudes de comunicao,
importncia do respeito no tratamento com o pblico, tcnicas verbais e
alternativas ao uso da fora, respeito pela diversidade cultural e integridade
e tica. Um treinamento baseado nos diversos cenrios possveis uma
Santiago Veiga
e Ignacio Romano
386
forma efetiva de comunicar e internalizar os temas que devem ser
transmitidos. No caso de considerar conveniente, pode aplicar--se
assistncia psicolgica.
Por ltimo, a terceira etapa supe o monitoramento posterior dos
agentes que participaram do programa. Esse monitoramento dever ser
feito pelo oficial imediatamente superior (supervisor) ao agente que
participou do programa. A performance do agente dever ser monitorada
por um perodo de 36 meses aps a concluso do programa.
Entre as variveis que devem ser consideradas como indicadores
de desempenho desses sistemas de alerta precoce podem ser includas
as reclamaes e denncias dos cidados; histricos de uso de arma de
fogo, histricos de uso de fora, demandas civis, demandas penais,
perseguies em alta velocidade, danos causados s viaturas, quantidade
de infraes de trnsito, suspenses (medidas disciplinares recebidas),
prmios e ascenses recentes, etc. Tais indicadores devem ser medidos
por um determinado perodo de tempo e com relativa periodicidade. Os
agentes policiais cujos registros estiverem fora dos parmetros normais
determinados estaro suscetveis a ingressar na fase de interveno do
programa de alerta precoce.
O fato de um agente policial ter um nmero determinado de
entradas nesses indicadores no sistema no dever significar, por si s,
que esse agente esteja tendo problemas de conduta. So alertas, e o
supervisor imediato dever analisar o caso em questo para determinar
se o agente deve participar do programa ou no.
Outro ponto relevante para que sistemas como o proposto sejam
eficientes que a base de dados do sistema sirva apenas para tais fins. O
acesso ao sistema deve ser protegido e restringido unicamente aos
responsveis pelo mesmo. Alm disso, deve-se facilitar aos civis registrar
reclamaes e denncias de condutas problemticas por parte do pessoal
policial, o que supe a possibilidade de realizar as mesmas por todos os
meios disponveis, inclusive a denncia pessoal, por correio, telefone, fax
ou e-mail, garantindo tambm a possibilidade de faz-lo mantendo o direito
ao anonimato. Tambm dever ser disponibilizado um formulrio de
reclamao sem que a apresentao do mesmo seja excludente, para dar
incio ao trmite.
Mecanismos e procedimentos de controle interno
Um olhar da Argentina
387
A implementao de sistemas como o exposto evidencia o interesse
de uma determinada instituio policial em prevenir comportamentos
inadequados de seus membros, aumentar a transparncia de sua gesto e
melhorar as relaes com a comunidade.
POLCIA ORIENTADA A RESULTADOS
Produtividade e Mesurao de Resultados
Desde meados dos anos 90 e com um forte incentivo a partir da
experincia do COMSTAT implementada na Cidade de Nova York,
comearam a surgir em algumas instituies policiais experincias de
introduo de ferramentas de gesto moderna que permitem medir e
analisar os resultados obtidos. O ponto inicial consiste em definir quais
sero os indicadores a ser considerados; logo como ser obtida a
informao de forma regular (desenho de um sistema de captura padro
de informao) e, finalmente, como os resultados sero analisados e
interpretados. Isso deu incio a desenhos de redes integradas de dados,
conectando unidades policiais (via Internet, microondas, trunking digital,
etc), gerando aplicativos de recolhimento de informao estandardizados,
e a formao de reas ou equipes de anlise e processamento da
informao.
As primeiras experincias de sistematizar e processar a informao
na Argentina tm origem nas reas de investigao policial, para trabalhar
na inteligncia criminal. Logo, a utilizao das redes foi expandida s chefias
regionais de operaes, para planificao dos servios de segurana
jurisdicionais, e finalmente esto comeando a ser utilizadas em algumas
dependncias administrativas, tanto nas provncias como no Governo
Federal. Da informao especializada disponvel, apenas nesses ltimos
casos -particularmente no Governo Nacional (Ministrio do Interior) e
no da provncia de Buenos Aires (Ministrio de Segurana)- a informao
recolhida atravs das redes utilizada para controle de resultados sobre
as foras de segurana. lamentvel que ainda existam dvidas sobre
quais devam ser os indicadores de gesto policial, e principalmente, quais
resultados so bons e quais so ruins. O problema ao analisar a informao
sempre deixar de faz-lo em combinao com uma srie de fatores
associados. Por exemplo, no tem sentido castigar um Chefe Regional
Santiago Veiga
e Ignacio Romano
388
porque aumentou a quantidade de delitos denunciados em sua jurisdio
(como indicador isolado), j que pode ser conseqncia de uma melhora
no trabalho, atravs da aproximao com a comunidade e gerao de
resultados concretos, que resulte num aumento da confiana dos cidados
e, em conseqncia, num aumento da denncia de delitos. Esse tipo de
indicadores deve ser contrastado por uma pesquisa de vitimizao, por
exemplo, como forma de dimensionar a representatividade das estatsticas
criminais.
Outro erro ao analisar a informao a alocao de cada vez mais
recursos em determinadas zonas problemticas, utilizando como nico
indicador um mapa de delitos denunciados. A quantidade de delitos
denunciados em uma rea no necessariamente indica uma gravidade maior
da situao que justifique desviar recursos escassos na mesma. Zonas
com menor quantidade de delitos em nmeros absolutos podem
apresentar delitos muito mais violentos e graves, que demandam fortalecer
a capacidade de resposta na jurisdio.
Por ltimo, importante mencionar que a anlise de informao
pelas polcias argentinas realizada atravs de uma variedade de
plataformas (software) entre as quais algumas de origem internacional
convivem com as desenvolvidas dentro das foras policiais. Os aplicativos
incluem programas especficos para inteligncia criminal, mapeamento do
delito, bases de dados especficas, grades de comando e sistemas de
identificao de impresses digitais (AFIS). Nessa etapa, os avanos se
concentram em dependncias centrais ou regionais, embora seja possvel
detectar as primeiras tentativas de aproximar essas ferramentas s unidades
jurisdicionais menores para que os chefes das delegacias, por exemplo,
possam planejar seus servios com melhor informao em favor de uma
maior produtividade, aplicando seu conhecimento do terreno, diferente
dos informes que chegam prontos das dependncias centrais.
RESULTADOS E MARCO DE INCENTIVOS
Esse trabalho no pode ser concludo sem refletir sobre um fator
freqentemente ignorado na Argentina, e certamente em toda a regio.
Quando se analisam os mecanismos de avaliao de resultados, geralmente
se faz referncia a sistemas desenhados para impor sanes a quem no
Mecanismos e procedimentos de controle interno
Um olhar da Argentina
389
cumpre as determinaes ideais, que geralmente no so muito claras.
No entanto, aqui se esquece de mencionar o que, em qualquer organizao
privada, resulta numa varivel relacionada de maneira iniludvel: os recursos
humanos da organizao.
Dificilmente pode-se sancionar um policial por no cumprir uma
funo para a qual no est preparado e nem sequer tem os meios materiais.
A cadeia de problemas observados na Argentina a seguinte: baixa
remunerao, profisso sem prestgio e de risco, que no atrativa para
os jovens argentinos, o que faz com que as foras policiais diminuam os
requisitos de ingresso para poder ter candidatos. As deficincias de
formao inicial no so corrigidas pela capacitao pobre recebida na
hora de entrada e ao longo da carreira, seguido da falta de vocao, j que
com os altos ndices de desemprego, muitos jovens argentinos ingressam
nas foras policiais por ser a nica oportunidade de trabalho. Esses novos
policiais so colocados nas ruas com poucos meses de treinamento, devem
comprar at o uniforme devido aos poucos recursos materiais em suas
unidades ou a um estado deficiente, salrios prximos linha de pobreza
que os obrigam a trabalhar at 16 horas por dia em servios de polcia
adicional, que no respeitam o descanso nem a vida familiar, nem oferecem
oportunidades de formao profissional adicional.
Diante dessa realidade se contrapem as expectativas dos
argentinos, de comparar nossos policiais com os dos EUA, Frana ou
Espanha, e o choque de realidades evidente. Sempre se comenta com
indignao que um policial feriu inocentes num confronto, ou atropelou
uma pessoa durante uma perseguio, ou simplesmente que os policiais
no fazem nada. No se ignora nem se pretende justificar os maus policiais
que existem em toda organizao-, mas agir bem nas condies descritas,
resulta claramente um desafio adicional.
Como concluso, me parece oportuno reproduzir uma conversa
recente com um policial, que apesar de se colocar sobre a mdia e de ter
recebido treinamento em diversos lugares do mundo, me disse: H alguns
anos, resolvemos um caso de tomada de refns sem vtimas inocentes, embora
dois dos nossos tinham sido feridos. Aps receber uma medalha, fui enviado a
minha casa durante seis meses para me recuperar, durante os quais, como
no pude fazer servios adicionais, meu salrio ficou reduzido metade. S
quatro anos depois me pagaram o seguro por uma quantia irrisria (menos de
Santiago Veiga
e Ignacio Romano
390
80 dlares), e se tivesse morrido era pouco mais de dois salrios bsicos.
Depois disso, antes de fazer alguma coisa na rua, penso duas vezes, porque
se alguma coisa acontece, minha famlia ficar abandonada e a instituio
no far nada por ela.
Nota
1
prtica comum na Argentina que os detidos denunciem os policiais que os detiveram com a
esperana de que o processo seja anulado e as causas anuladas por supostas falhas e abusos dos
policiais no procedimento. Por outro lado, o policial que trabalha nos escritrios, em funes
administrativas, no afetado por esse problema e pode cumprir seu trabalho sem medo de
denncias. Assim, quando se comparam histricos profissionais sempre beneficiado quem
exerce uma funo administrativa, afastado da tarefa propriamente policial.
Mecanismos e procedimentos de controle interno
Um olhar da Argentina
391
M
X
I
C
O
Relato Policial
ORDENS GERAIS PARA O CONTROLE INTERNO
NO ESTADO DE QUERTARO
Luis Gabriel Salazar Vzquez
*
INTRODUO
Na polcia, existem diversos sistemas ou mecanismos de controle,
sendo que, em geral, dentre destes sistemas predominam aqueles coercitivos,
seja por meio da norma legal que vige e regula todo servidor pblico, seja de
carter interno da prpria corporao. Estes, em algumas ocasies, mais que
mecanismos de regulao e controle, so instrumentos de manipulao para
a represso, abuso de poder e at corrupo interna , e muitas poucas vezes
so utilizados para benefcio da prpria polcia, seja por desconhecimento ou
por no ser conveniente apelar a eles por represlias posteriores.
At hoje, ao menos no Estado de Quertaro, desconheo se tem
existido dentro das legislaturas encarregadas de fazer as leis pessoas com os
conhecimentos necessrios do fazer policial, o que traz como conseqncia
a criao de ordenamentos que no s desamparam o prprio policial dos
benefcios sociais mais elementares, mas que tambm so incongruentes com
a tarefa e as situaes que enfrenta a polcia na rua, o que repercute no abuso
de autoridade e violao dos direitos humanos, entre outros fatores. Assim,
depois do erro, busca-se sua reparao com o remdio original, ou seja, a
criao de outra lei ou ordenamento, convertendo a funo policial em um
jogo vicioso entre a criao de leis e a imaginao policial para realizar seu
trabalho, seja em benefcio de sua comunidade ou para seu prejuzo.
Durante os 10 anos em servio ativo como policial, esta a primeira
ocasio em que se trata de implementar uma srie de polticas internas, com
as quais se pretende regular, homologar e estabelecer critrios de operao.
Estas ditas polticas tm sido chamadas de Ordens Gerais, comearam a
valer no 17 de julho do presente ano e ainda no tem projetado o objetivo
previsto; longe disso, vive-se em um estado de confuso e descontrole na
operao. No entanto, so o primeiro mecanismo de controle que tenta a
regulao da atuao policial com uma viso de rua, para o benefcio e proteo
*
Criminlogo, Comandante da Polcia Turstica do Estado de Quertaro.
do cidado e do prprio policial.
392
DESENVOLVIMENTO
Durante o segundo semestre de 2005, foram dadas a conhecer
por meio de um curso-oficina, as Ordens Gerais. O curso-oficina teve
uma durao de dois dias, com uma carga horria de 16 horas e foi
ministrado por um grupo de advogados contratados pela Secretaria de
Segurana Cidad de Quertaro.
As primeiras novas ordens gerais foram as seguintes:
1.- disposies gerais;
2.- protocolos de comunicao;
3.- operao do veculo policial (crp);
4.- patrulhamento;
5.- apreenso de veculos por infrao de trnsito;
6.- translado e depsito de veculos;
7.- motoristas sob a influncia de drogas ou lcool;
8.- operao do veculo policial (crp) emergncia;
9.- perseguies.
Contudo, durante o desenvolvimento do curso-oficina foram
vertidas diversas opinies por parte de maioria dos colegas da corporao,
ressaltando seu descontentamento com a aplicao das mesmas por
consider-las inoperantes.
Essa reao comum na polcia quando se trata de mudar a forma
de operar ou de implementar novos procedimentos. Algumas declaraes
de desaprovao carecem de fundamentos lgicos e tm uma forte
conotao de rebeldia por quebrarem o que se vinha fazendo que, em
ocasies, tem um vis para a corrupo. No entanto, muitas opinies e
crticas vertidas so justificveis e dignas de ateno, j que tm um
fundamento baseado na experincia do servio. Lamentavelmente, nesta
ocasio, essas opinies pertinentes no foram levadas em conta para o
enriquecimento e viabilidade destas Ordens Gerais, que aplicar o policial
em seu servio dirio.
Ordens Gerais para o controle interno no Estado de Quertaro
393
O que foi exposto anteriormente at hoje ficou de manifesto, ao se
continuar operando com uma combinao do que anteriormente se vinha
fazendo e o que est se pretendendo implementar e que, a considerao
prpria e com base na minha experincia, se no for corrigido em breve,
perder o objetivo proposto, ou bem comearo prticas discrecionais
conforme a situao apresentada na rua.
Atualmente, continua-se trabalhando na criao e formao de novas
Ordens Gerais, sendo que, nesta segunda fase, tenho tido a honra de
participar na equipe que trabalha nelas, o que me permitiu ter uma idia
mais ampla das mesmas e do seu objetivo. No entanto, considero que se
tem descuidado como estas ditas ordens devem impactar no pessoal para
gerar sua motivao, credibilidade e sua correta aplicao de forma
voluntria, sob uma disciplina positiva e com a aceitao e viso de um
novo modelo de operao e no de forma forada, alm de criar um
mecanismo de avaliao quanto viabilidade da aplicao das primeiras
ordens e as subseqentes.
Uma possvel soluo, guisa de proposta, a de criar um comit
interno, formado por representantes do pessoal operativo no nvel de
comando, bem como diretivo, na criao de projetos inerentes ao
desenvolvimento da funo policial, o que gerar a credibilidade e
compromisso com o projeto a ser desenvolvido, alm de confiana e
pertena com a instituio, para conseguir uma melhor qualidade no servio
e, sobretudo, a incorporao da viso e misso institucional que se
materializa no servio dirio com o qual a polcia brinda o cidado; mas,
sobretudo, a aceitao nos procedimentos empregados no s para o
combate profissional criminalidade, mas na atuao e atendimento do
policial com sua comunidade e com ele mesmo.
por isso que se pretende criar um novo modelo de atuao
operacional, como o caso aqui exposto, devendo-se trabalhar de maneira
interdisciplinar, envolvendo a maioria dos atores inerentes matria.
CONCLUSO
Plasmar uma srie de polticas para a operao no um trabalho
fcil, que no depende de um elemento s para sua integrao, como
poderia ser a experincia na rua do prprio policial, pois cada caso
Luis Gabriel Salazar Vzquez
394
particular e nico e vivido de modo pessoal. sabido por todo policial
que nem sempre os problemas se vo manifestar em iguais circunstncias
quelas que um colega viveu. Da mesma forma, deixar a criao de leis e
polticas nas mos de pessoas alheias realidade operacional pode convert-
las em instrumentos inaplicveis e alheios a qualquer realidade.
A criao de polticas de atuao operacional, congruentes e
enriquecidas no terico e no prtico, pode se converter em um mecanismo
idneo de controle operacional que propicie o respeito legalidade em
seus procedimentos, bem como dotar o policial de um respaldo institucional
que lhe garanta uma maior segurana no exerccio de suas funes.
A prpria polcia tem sido parte importante na quebra das redes
que ligam a ela mesma sua comunidade, pelos mtodos ilegais e que
violam os direitos humanos elementares do cidado; por sua vez, a prpria
comunidade no quer e no acredita que valha a pena depositar a confiana
e credibilidade que algum dia j depositou nela. Criar novas redes que
aproximem a polcia de sua comunidade tem sido um dos objetivos da
atual administrao; no entanto, no se pode pedir sociedade que mude
a viso que atualmente tem de sua polcia sem antes iniciar uma mudana
integral da prpria polcia e dos mtodos empregados at agora.
Ordens Gerais para o controle interno no Estado de Quertaro
395
G
U
A
T
E
M
A
L
A
Relato Policial
ASSDIO SEXUAL NA POLCIA NACIONAL CIVIL
DA GUATEMALA
Rosa Mara Jurez Aristondo
*
No dia 05 de janeiro de 2005, a agente da PNC (Polcia Nacional
Civil) Estela Mara Salom Prez (nomes fictcios, para guardar a identidade
da vtima) denunciou no Setor de Direitos Humanos da Inspetoria Geral
da Polcia Nacional Civil da Guatemala que h um ano vem sofrendo
problemas no trabalho com o delegado da PNC Leopoldo Hurtado
Buenaf (nome fictcio), chefe de uma Unidade Operativa da PNC da
Guatemala, e que vtima de assdio sexual por parte deste Delegado,
que pede para que ela v a sua sala e para que no use meias, pois gosta
das suas pernas e quer beijar-lhe o corpo e constantemente a convida
para sair para comer e a outros lugares. Quando esta no aceitou, tomou
represlias contra a vtima at o ponto de transferi-la para o Departamento
de Mazatenango, a 200 quilmetros da capital, afetando-a econmica,
moral e familiarmente. O Regulamento disciplinar da Polcia Nacional Civil,
contido no Acordo Governativo 420-2003 de 18 de julho de 2003
estabelece: Artigo 20. So infraes graves as seguintes: 18) Insinuar ou
assediar de forma freqente com propostas de natureza sexual pessoal
subordinado ou que esteja sob custodia. O Artigo 22 regula: So infraes
muito graves as seguintes: 16) A reincidncia em insinuar ou assediar em
forma freqente com propostas de natureza sexual o pessoal subalterno
ou que esteja sob custodia.
Hurtado Buenaf, delegado da Polcia Nacional Civil, foi destitudo
pelo tribunal disciplinar de Quetzaltenango por ter cometido uma falta
muito grave: assdio sexual contra uma subalterna. A agente Mara Salom
Prez neste processo, como vtima, conseguiu atravs dos rgos
controladores da polcia (Inspetoria Geral) que se fizesse justia em seu
caso. As conseqncias mencionadas as conseqencias mencionadas fazem
com que os demais agentes policiais considerem que diante deste tipo de
falta grave e muito grave (assdio), no haver impunidade institucional
embora se trate de um alto chefe policial.
76% dos agentes da Polcia Nacional Civil reconhecem que dentro
da instituio habitual o assdio sexual. S 10% dos policiais so
*
Subcomissria de Polcia, Bacharel em Cincias Jurdicas e Sociais, Chefe da Diviso de Direitos
Humanos da Policia Nacional Civil.
396
mulheres, o que faz com que sejam mais vulnerveis ao assdio de seus
companheiros. Mas nenhum agente considerou nunca que isto podia ser
motivo de destituio.
A destituio se produziu em 24 de agosto deste ano. Hurtado Buenaf,
comissrio destinado ao Gabinete da Polcia, deixou seu cargo na Polcia Nacional
Civil por ordem do tribunal disciplinar. Quando leram a sentena condenatria,
no podia acreditar. Nunca pensou que uma simples agente ganharia o caso,
afirmou Vernica Godoy, que serviu como testemunha de honra para verificar
a correta aplicao do regulamento interno da Polcia Nacional Civil.
A vtima levava vrios meses tolerando os contnuos abusos do delegado.
Segundo a prpria sentena, Hurtado Buenaf lhe pedia que fosse sem meias
ao trabalho para ver suas pernas, a retinha em seu gabinete, elogiava suas
qualidades fsicas e lhe pedia que mantivesse relaes ntimas. Como Salome
Prez nunca aceitou suas propostas, o assediador promoveu sua transferncia
de delegacia. Uma vez que a agente sempre tinha realizado trabalho
administrativo, a mudana para uma unidade operativa supunha um grande
prejuzo para ela, por isso a mesma decidiu apresentar a denncia. S um
policial a ajudou em seu esforo, seu marido.
Vrias de suas colegas de trabalho declararam diante do tribunal a seu
favor, mas nenhum colega homem. Tanto a vtima como suas colegas sofreram
forte presso por parte de vrios delegados durante o tempo que durou o
processo.
Para ns, o mais importante a mensagem que foi transmitida aos
outros policiais, pois o assdio sexual para eles parte do cotidiano, comenta
Godoy. No ano passado, a Unidade de Gnero da Polcia Nacional Civil s
recebeu oito denncias por assdio sexual e nenhuma delas teve resultado.
O que ajudou muito neste caso foi a deciso do investigador da P.N.C. e a da
vtima. Nunca deu um passo atrs apesar das ameaas, afirmou Godoy.
Em novembro de 2003, grupos da sociedade civil e organizaes
internacionais acordaram com o Ministrio de Governo o novo regulamento
disciplinar da Polcia Nacional Civil. Nele se incluiu pela primeira vez como
falta grave o acosso sexual, apesar do ato no ser tipificado como delito na
guatemala.
Este foi o ponto mais polmico que tivemos que discutir com os
delegados; a negociao quase ficou paralisada por isso, comentou
Assdio sexual na Polcia Nacional Civil da Guatemala
397
Eleonora Muralles, de familiares e amigos contra o delito e o seqestro.
No final de 2004, se constituram os trs tribunais disciplinares que at o
momento vm promovendo a destituio de vrios policiais. No entanto,
nunca, at agosto de 2005, tinha afetado um delegado.
1
Viso policial sobre eqidade de gnero
O Ministrio de Governo, implementou o projeto de fortalecimento
institucional da Polcia Nacional Civil que inclui o projeto de investigao
multitnica e de gnero.
Neste sentido, no Acordo sobre Fortalecimento do Poder Civil o
Governo da Repblica se compromete a tomar medidas correspondentes
a fim de propiciar que as organizaes de carter poltico e social adotem
polticas especficas tendentes a alentar e favorecer a participao da mulher
como parte do processo de fortalecimento do poder civil. (AFPC nmero
59, inciso b). A Polcia Nacional Civil adotou o enfoque de gnero em sua
organizao para propiciar condies de igualdade e eqidade entre
homens e mulheres na instituio, j que as mulheres tm convivido
historicamente em condies de ineqidade em relao aos homens.
A incorporao do enfoque de gnero dentro de uma instituio
tem trs dimenses: 1) no mbito interno, para garantir a igualdade de
oportunidades para homens e mulheres, 2) no mbito externo, na
prestao de servios a todos os setores da populao, e 3) na preveno
do delito especialmente em casos de violncia intra-familiar e sexual.
2
O enfoque de gnero na Polcia Nacional Civil um conceito que
promove a igualdade nas condies trabalhistas e na prestao de servios
com o pessoal feminino e masculino que integra a instituio. Este enfoque
estabelece as formas de relaes que devem se dar entre o pessoal policial,
que devem fundamentar-se no respeito mtuo, tanto profissional como
humano. Isso uma condio indispensvel para o desempenho
institucional normal e o cumprimento eficiente das funes que deve
desempenhar a polcia para o bem-estar e segurana da sociedade.
3
Sem a participao das mulheres conscientes de seus direitos e
capacidades nos diferentes nveis da instituio policial, a segurana seguir
sendo concebida de forma parcial, a partir da problemtica e perspectiva
dos homens, e em funo dela se priorizaram determinados problemas
Rosa Mara Jurez Aristondo
398
que afetam nossa sociedade, ignorando-se os problemas urgentes que
enfrenta a populao feminina cotidianamente.
4
Os Acordos de Paz valorizam a funo das mulheres na sociedade
ao reconhecer as importantes contribuies que historicamente tm dado
para o desenvolvimento do pas: O Governo se compromete a
impulsionar campanhas de difuso e programas educativos no mbito
nacional encaminhados a conscientizar a populao sobre o direito das
mulheres a participar ativa e decididamente no processo de fortalecimento
do poder civil, sem nenhuma discriminao e com plena igualdade, tanto
das mulheres do campo como das mulheres da cidade.
5
Os Acordos de
Paz obrigam o Estado a promover a eliminao de toda forma de
discriminao contra as mulheres. Estabelecem tambm a responsabilidade
do Estado de velar para que os direitos e as necessidades das mulheres
sejam satisfeitas num contexto de eqidade, que se fomente sua
participao social, poltica e cidad, seu acesso ao trabalho e a propriedade
da terra, assim como todo tipo de servios bsicos; redefinam a funo e
as responsabilidades do Estado em relao s mulheres, se
comprometendo a propiciar a eqidade de gnero.
Na Polcia Nacional Civil, as estatsticas de 2001, revelam que as
mulheres policiais constituam apenas 10%, mantendo esta porcentagem
at 2005, do total da fora policial; mas sua participao nos comandos
mdios e nas escalas superiores se reduz a 0.28%, estando a maioria
vinculada escala bsica da carreira policial. A designao de tarefas a
mulheres policiais responde a padres socioculturais que seguem
remetendo a mulher a um papel tradicional de tarefas subalternas ou
administrativas em detrimento da possibilidade de que participem dos
nveis diretivos e da tomada de decises.
6
Notas
1
Publicao de Prensa Libre de 24 de outubro de 2005.
2
Projeto equidade de gnero, pg. 6.
3
Gabinete de Equidade de Gnero da PNC/MINUGUA, A discriminao e o assdio atentam
contra a dignidade da mulher, pg. 45.
4
Relatrio de Verificao, Ob, Cit; pg. 7.
5
MINUGUA, Processo de negociao da paz na Guatemala, pg. 347.
6
Relatrio de Verificao, Ob. Cit; pg. 20.
Assdio sexual na Polcia Nacional Civil da Guatemala
399
PARTE III - POLCIA E SOCIEDADE
Refere-se s finalidades da polcia, expressas nos arranjos
e interaes com a sociedade. Compreende os processos
de pacto social para produo da coero autorizada,
explorando as bases e dinmicas de consentimento social e
suas formas de legitimao.
Enfatiza os expedientes e mecanismos de controle e
participao social como instrumentos de sustentao do
mandato policial.
Empresta os contornos para a definio poltica dos
termos da responsabilizao policial, informando os limites
exteriores da pertinncia, propriedade, adequao,
oportunidade e suficincia da ao policial.
400
401
C
H
I
L
E
Artigo
PARTICIPAO COMUNITRIA NA PREVENO
DO CRIME NA AMRICA LATINA
DE QUE PARTICIPAO FALAMOS?
1
Luca Dammert
*
1. INTRODUO
A participao comunitria na preveno do crime ocupou um lugar
central nas polticas pblicas de segurana na Amrica Latina. Esta situao
configurou-se, principalmente, pela forte tendncia de crescimento dos
crimes denunciados, da violncia neles utilizada, do medo do cidado, e
da aparente dificuldade governamental para enfrentar tais problemticas.
Neste sentido, as polticas de participao buscam estimular o apoio do
cidado e aumentar a legitimidade das instituies encarregadas do controle
e da preveno da criminalidade.
Neste contexto, reformularam-se os pilares das polticas pblicas
dirigidas a reduzir o crime, os quais certamente incluem a relao entre a
polcia e a comunidade. Assim sendo, a comunidade adquiriu um papel
mais relevante nas polticas voltadas a diminuir a violncia e a criminalidade.
Como conseqncia disso, apresentou-se no plano discursivo uma
mudana do paradigma da segurana pblica, para a segurana democrtica
ou segurana cidad, o que na prtica se traduziu na busca de uma maior
participao comunitria nas polticas de segurana e de uma melhor relao
com a polcia. Naturalmente, a seriedade destes esforos apresenta
diversos matizes nacionais. Em alguns casos, a importncia da participao
ficou na retrica de polticos e administradores pblicos, enquanto que
em outros casos formularam-se estratgias de participao que
efetivamente buscam envolver a populao. Um exemplo recente o
Plano Nacional de Preveno do Crime, da Argentina, que conseguiu
estabelecer uma estratgia de participao da comunidade local nas reas
onde foi implementado.
Assim, partimos da hiptese que as polticas de participao cidad
possuem trs objetivos especficos: em primeiro lugar, melhorar a
normalmente desgastada relao entre a comunidade e a polcia, com a
esperana de consolidar um vnculo de trabalho comum, onde a
comunidade participe da preveno da criminalidade e respalde a ao
*
Diretora do Programa Segurana e Cidadania - FLACSO Chile
402
policial. Em segundo lugar, se pretende fortalecer as redes sociais
existentes sob a presuno de que isto permitir o desenvolvimento e
a consol i dao do capi tal soci al . Embora exi stam di versas
interpretaes do conceito de capital social, neste artigo tomamos a
definio emitida por Putnam (1993), quando estabelece o que capital
social
2
local, o que se transformaria em uma estratgia central de
preveno da violncia. Finalmente, essas polticas de participao
tendem a consolidar um processo de descentralizao que atribui aos
municpios um papel cada vez mais ativo na formulao e implementao
das ditas estratgias.
O objetivo deste artigo analisar as polticas pblicas de
preveno comunitria do crime, ou seja, aquelas experincias de
participao comunitria que so geradas pelo governo. Enfocamos,
principalmente, os desafios e problemas que interferem no seu
desenvol vi mento para a obteno dos obj eti vos espec f i cos
anteriormente mencionados. Especificamente, procura-se delinear a
estreita relao existente entre as polticas de participao comunitria
e as instituies policiais, bem como a potencialidade de tais polticas
na consolidao e, inclusive, na criao de capital social. Desta maneira,
analisa-se o papel do poder pblico na definio de novas estratgias
frente insegurana, baseadas na participao comunitria.
3
O presente artigo divide-se em trs sees. Em primeiro lugar
so apresentados os principais conceitos, temas e problemas da
participao comunitria na preveno do crime. Dessa anlise se
depreendem os questionamentos e os desafios principais a este tipo
de iniciativa. A segunda seo apresenta uma anlise comparativa de
trs casos, nos quais se procura dar resposta problemtica local da
falta de segurana. No primeiro caso, em Crdoba, na Argentina, o
governo estadual aprovou uma importante reforma policial que foi unida
estratgia de organizao de JUNTAS DE VIZINHOS. Por outro
lado, em So Paulo, a Polcia Militar adotou a filosofia da polcia
comuni tri a e, paral el amente, i mpul si onou a organi zao de
CONSELHOS DE SEGURANA municipais ou de bairro. No terceiro
caso, aborda-se a experincia do Chile, onde o governo encontra-se
i mpl ementando uma pol ti ca de organi zao de CONSELHOS
COMUNAIS DE SEGURANA, sendo a participao da polcia ainda
limitada. Finalmente, a ltima parte deste artigo apresenta algumas
Participao comunitria na preveno do crime na Amrica Latina
403
concluses, fruto das experincias analisadas.
2. CONCEITOS, TEMAS E PROBLEMAS DA PARTICIPAO
COMUNITRIA
Nas ltimas dcadas se evidenciou uma notvel mudana na forma
como se aborda a preveno do crime no mundo. Atualmente o controle
do crime no mais visto como uma tarefa nica e exclusiva das instituies
pblicas, transformando-se em mais uma tarefa difusa e fragmentada em
mos de diversas instituies pblicas, de organizaes no-
governamentais e da comunidade em geral. Desta maneira, a
responsabilidade pelo problema do crime transladou-se da esfera
governamental para a pblica.
No centro desta mudana de paradigma, Crawford (1997) vislumbra
trs conceitos sobre os quais as principais polticas pblicas foram
construdas: preveno, comunidade e parceria (partnerships). Estes
conceitos so tambm centrais na definio das polticas de segurana na
Amrica Latina e, apesar de sua importncia, carecem de uma definio
conceitual clara que permita sua utilizao em estratgias que envolvam
perspectivas sociais e ideolgicas diferentes. A seguir, ser apresentado
um breve debate sobre as caractersticas principais destes conceitos em
polticas pblicas de preveno do crime.
Em primeiro lugar, a preveno, definida como as polticas, medidas
e tcnicas, fora dos limites de sistema de justia penal, dirigidas reduo
das diversas classes de danos produzidos por atos definidos pelo Estado
(Van Dijk, 1990), se consolidou como uma estratgia eficaz e eficiente na
diminuio do crime. O reconhecimento da importncia da preveno foi
concomitante ao desenvolvimento de interpretaes da criminalidade que
enfatizam os fatores de risco (Dammert 2001; De Roux, 1994; Crawford,
1997). Desta maneira, as medidas que buscam prevenir o aumento de
tais fatores (por exemplo, o consumo de lcool e o porte de armas) so
consideradas centrais na diminuio no s dos delitos, mas tambm da
sensao de insegurana do cidado.
Por sua vez, o conceito de comunidade transformou-se em um dos
mais utilizados em poltica pblica. Especialmente na rea da preveno
do crime, o interesse pela comunidade pode ser explicado a partir das
diversas posturas que explicam a relao entre crime e comunidade. Assim,
por exemplo, a consolidao da comunidade vista como um processo
Luca Dammert
404
ligado diminuio do crime e das oportunidades para cometer delitos,
defesa frente a outros grupos ou formao de um espao social
homogneo e, portanto, seguro. Apesar da amplitude de sua
conceitualizao, impossvel desprezar sua importncia e centralidade
nas polticas pblicas, assim como sua profunda vinculao com a preveno
do crime.
Finalmente, a parceria apresenta-se como uma estratgia de ao
necessria para enfrentar o crime. A bibliografia pe nfase na formao
de associaes entre diversas agncias estatais (Crawford, 1997) e as
funes que esta parceria pode ter, assim como suas conseqncias sobre
o crime. Alm disso, tambm relevante analisar a parceria entre a
comunidade e os organismos pblicos na busca de melhorias para o
problema criminal, pois, desta forma, a comunidade envolvida diretamente
na concepo e desenvolvimento das iniciativas preventivas.
Este chamado participao da comunidade em tarefas de
preveno e na formao de parcerias evidenciou-se, particularmente,
em duas estratgias governamentais: reforma policial e consolidao de
espaos de participao comunitria.
Reforma policial e polcia comunitria: caractersticas de um
processo complexo
A polcia comunitria uma das estratgias de mudana policial que
foi implementada majoritariamente no mundo com o claro objetivo de
responder aos abusos de poder, falta de efetividade, baixa confiana
da populao e s dvidas sobre a legitimidade da polcia (Crawford,
1997). Os programas de polcia comunitria distinguem-se por trs
caractersticas principais: vigilncia a p e a definio de pessoal dedicado
a determinadas reas geogrficas, o estabelecimento de parcerias na
preveno do crime e o desenvolvimento de mecanismos de consulta
cidad sobre os problemas locais mais importantes (Trojanowicz e
Bucqueroux, 1998; Goldstein, 1998).
Esta ampla caracterizao da polcia comunitria ocasionou a
implementao de programas de diversas ndoles, sob o mesmo rtulo.
Desta maneira, nos encontramos com experincias que ficam em um
extremo caracterizado pela gerao de uma mudana brusca e rpida,
como a reforma da polcia de Buenos Aires, que gerou controvrsias e
Participao comunitria na preveno do crime na Amrica Latina
405
resistncias internas s transformaes propostas. No outro extremo
esto os casos onde, por diversos motivos, entre os quais se destacam a
inrcia, a falta de compreenso de seus princpios bsicos e a reao
institucional frente s mudanas, se adota a retrica da polcia comunitria,
sem gerar nenhuma mudana significativa (Trojanowicz e Bucqueroux,
1998). Desta forma, evidente que o termo polcia comunitria perdeu
seu contedo inicial e transformou-se em uma categoria de um valor
principalmente simblico.
Na Amrica Latina, a partir da dcada de 1980, teve incio um debate
geral sobre o papel da polcia e da comunidade na preveno da
criminalidade. O retorno democracia em pases como Argentina, Brasil
e Chile, fez transparecer a necessidade das polcias experimentarem
transformaes que lhes inserissem nesse regime poltico (Frhling, 2001a;
Gonzlez, 1998; Oliveira e Tiscornia, 1998). A necessidade de reforma
se fez mais evidente devido constatao de uma atuao corrupta e
violenta de membros da instituio policial, especialmente na Argentina e
no Brasil, que no apenas envolvia cobranas indevidas por parte dos
agentes policiais, mas tambm o envolvimento com outros delitos. Alm
disso, o aumento da criminalidade e da sensao de insegurana gerou
uma reflexo sobre a necessidade de aumentar a eficcia policial.
Perante as demandas dos cidados, as instituies policiais colocaram
como principal tema a carncia de infra-estrutura e do pessoal necessrio
para controlar a delinqncia. No entanto, a ltima dcada demonstra um
aumento no investimento pblico em infra-estrutura policial em
praticamente todos os pases da regio. Assim, por exemplo, no perodo
1990-96 os recursos destinados aos Carabineiros e Polcia de
Investigaes do Chile cresceram 93.3% (Oviedo, 2000). Da mesma
forma, a despesa total da Polcia Federal da Argentina passou de 488 milhes
de dlares em 1993 para 734 milhes em 2000
4
.
Essa situao demonstrou claramente a necessidade de processos
de reforma da polcia, os quais, em alguns casos, recebem a denominao
de polcia comunitria. Nesses processos, identifica-se a incidncia das
trs caractersticas principais da polcia comunitria, analisadas
anteriormente. Verifica-se a presena de um claro discurso dirigido para
a consolidao da preveno como estratgia central da atuao policial.
Da mesma forma, ressaltada a relevncia da intensificao da participao
comunitria, destacando a centralidade de seu papel na diminuio do
Luca Dammert
406
crime e da sensao de insegurana. Por sua vez, observa-se tambm o enfoque
dado ao estabelecimento de parcerias entre a polcia e a comunidade.
Participao comunitria em preveno
A participao comunitria em temas de segurana est ligada a dois
tipos de iniciativas. A primeira refere-se s que nascem por iniciativa do governo
e da instituio policial, que se aproximam da populao como estratgia para
melhorar sua imagem, bem como para estabelecer esferas de cooperao na
preveno do crime. Um exemplo deste tipo de organizao so os Comits
de Proteo Cidad do Chile, que se desenvolvem a partir de uma poltica
expressa de criao de espaos comunitrios de avaliao, proposta e
implementao de programas de preveno (Araya Moya, 1999; Paz Cidad).
Por outro lado, h associaes comunitrias que nascem da preocupao
dos prprios cidados que, carentes de resposta dos organismos pblicos,
decidem se organizar de forma independente. Exemplo deste tipo de
organizao o Plano Vizinhos Unidos do bairro de Saavedra, em Buenos
Aires (Smulovitz, 2001). Embora estes tipos ideais sirvam para explicar o
fenmeno da participao comunitria, raramente se apresentam na sua verso
pura, configurando-se, normalmente, em casos intermdios, onde as duas
formas de iniciativas aparecem mescladas.
Sobretudo na Amrica Latina, as iniciativas governamentais para
intensificar a participao comunitria na preveno do crime estiveram ligadas
a mudanas nas instituies policiais e criao de organismos dedicados
sua organizao. Neste sentido, a anlise dos casos propostos permite
identificar as caractersticas centrais das polticas de participao comunitria
na Amrica Latina, assim como suas limitaes e desafios.
3. ANLISE COMPARATIVA
Esta anlise comparativa pretende ressaltar as contribuies destas
experincias e a relao destas com as polticas de participao comunitria
na preveno do crime na Amrica Latina.
Retomando o debate conceitual exposto na segunda seo, os casos
estudados apresentam variaes na forma como se encaram os trs
conceitos centrais: preveno, parceria e comunidade. Uma primeira
Participao comunitria na preveno do crime na Amrica Latina
407
caracterstica comum aos casos analisados o interesse dos funcionrios
governamentais e da direo das instituies policiais por uma mudana
na forma tradicional de aplicao das polticas de segurana. Como
observamos, esta preocupao tem suas razes no aumento do crime e
da sensao de insegurana em todos os contextos, apesar da significativa
variao entre eles.
Desta maneira, o conceito preveno posto no primeiro plano da
discusso poltica, como uma forma de enfrentar estas problemticas e,
sobretudo, de diminuir a constante cobrana do cidado por medidas
efetivas contra o crime. Neste sentido, a preveno aparece como uma
forma de envolver a comunidade nos problemas de segurana, aos quais
se confere uma multiplicidade de causas.
Esta situao torna-se evidente nos casos estudados, j que todas
as instituies policiais estabelecem como objetivo central a preveno
do crime e a relao com a comunidade, mesmo quando a capacitao
relacionada a estes temas escassa (ver tabela 1). As instituies policiais
dos trs casos compartilham caractersticas comuns. A partir da dcada
de 1990, enfrentaram a problemtica da segurana do cidado com um
discurso que, por um lado, pe nfase na preveno e na participao
comunitria, e , por outro, no aumento de pessoal e na aquisio de
tecnologia. Outro aspecto a ser considerado, nos casos de So Paulo e
Crdoba, a grande desconfiana do cidado em relao aos policiais,
assim como seu passado repressor e autoritrio, que inclui um ingrediente
importante anlise desta preocupao com a relao com a comunidade,
o que se configura diferente no Chile, onde os Carabineiros contam com
um maior apoio e confiana da populao.
Por outro lado, observa-se que em todos os casos diversas
estratgias de comunicao foram iniciadas para transmitir a mensagem
de uma polcia mais prxima da comunidade. No caso de So Paulo, isto
evidente at mesmo no nome proposto para a reforma policial. Por sua
vez, em Crdoba e no Chile, embora no se tenha adotado uma poltica
de Polcia Comunitria, foram propostas no primeiro caso mudanas
institucionais relacionadas a este tipo de estratgia, e desenvolveu-se, no
segundo uma intensa campanha na mdia sobre novas estratgias
operacionais, que estabelecem um vnculo maior entre Carabineiros e a
comunidade (ver tabela 2).
Luca Dammert
408
Esta mudana no discurso pblico das polcias, que incorpora a
participao do cidado, tem como causa principal a necessidade de
repensar estratgias preventivas que respondam demanda cidad e lhe
outorguem legitimidade institucional (no caso de Brasil e Argentina). No
entanto, a definio do vnculo da polcia com os grupos de vizinhos ainda
no est clara, o que apresenta um grave risco: as expectativas criadas na
comunidade podem exceder os objetivos policiais e, portanto, aumentar
a lacuna entre ambos os grupos.
Nos trs casos analisados se introduz um discurso pblico prximo
ao da polcia comunitria. Mas Crdoba
5
a nica experincia onde se
evidencia uma mudana estrutural da instituio. Os outros dois casos
mantm instituies militarizadas, hierrquicas e com altos nveis de
autonomia em relao a outros atores institucionais e sociais. Cabe fazer
a ressalva que em So Paulo o plano de polcia comunitria envolve
treinamento e capacitao especficos para toda a instituio.
Paralelamente colocao em prtica de mudanas institucionais
ou operacionais que buscam vincular a polcia comunidade, foram
impulsionadas polticas que tm como principal objetivo estabelecer
relaes entre a comunidade e as instituies governamentais de controle.
Desta forma, as polticas de participao comunitria na preveno do
crime tomaram especial relevncia na ltima dcada na rea das
organizaes sociais. No entanto, coincidimos com Crawford (1997),
quando coloca em dvida as possibilidades de longo prazo deste tipo de
estratgia, ao explicitar que o crime por si mesmo pode no ser o foco
mais apropriado sobre o qual organizar comunidades abertas, tolerantes
e inclusivas. Pelo contrrio, mais provvel que gere maior resistncia e
excluso. A configurao de comunidades tolerantes, de suas instituies
e de suas estruturas deve ser conduzida sob discusses e focos que sejam
realmente integradores (Crawford, 1997).
Apesar do reconhecimento das limitaes da organizao
comunitria na preveno do crime, preciso ressaltar alguns dos seus
aspectos positivos. Em primeiro lugar, nas experincias analisadas
apresenta-se uma clara presena do cidado nas reunies dos conselhos
propostos, embora tal participao tenda a diminuir, o que no exclui o
interesse e o envolvimento de um setor da populao nestas iniciativas.
Da mesma forma, ainda que no caso de So Paulo a participao direcione-
Participao comunitria na preveno do crime na Amrica Latina
409
se quase que exclusivamente para temas de segurana, em Crdoba as
reunies dos conselhos permitiram o desenvolvimento de campanhas de
educao sobre violncia familiar, consumo de lcool etc. No Chile, ainda
no possvel avaliar os resultados, j que o processo encontra-se em
fase de desenvolvimento dos diagnsticos locais.
Neste sentido, talvez um dos principais achados desta anlise seja a
definio de participao comunitria que se evidencia nas polticas
implementadas. Todas envolvem um ator (polcia ou governo) que organiza,
convoca e constitui um ncleo cidado de participao. No caso de So
Paulo e Chile, os membros dos CONSEG e dos Conselhos Comunais so
convidados a participarem de acordo com a representatividade e
interesse que possuem na comunidade, constituindo um board ou
diretrio de vizinhos, que se rene periodicamente para avaliar a
problemtica do bairro ou do municpio, o que apresentado como uma
poltica de verdadeira participao. Trata-se de uma participao cidad
com tarefas definidas (destacar os principais problemas, apoiar as aes
policiais), que deixa um espao pequeno para as iniciativas que poderiam
ser apresentadas pelos vizinhos.
Tais medidas mostram, ento, que a participao cidad
compreendida como a administrao de projetos de investimento (no
caso do Chile), a gerao de diagnsticos e a avaliao de aes pblicas,
no incluindo um papel ativo do cidado na proposta, na concepo e na
colocao em prtica de polticas, programas e projetos comunitrios.
Mesmo que em todos os casos esteja presente a vontade poltica de ouvir
a voz do cidado, os mecanismos pelos quais esta demanda popular
canalizada no esto claramente definidos.
Face ao exposto, argumentamos que necessrio refletir sobre a
necessidade de dar um novo significado participao e de ampliar o
papel do cidado. Quando este se v restringido e as propostas e
reclamaes do pblico no so canalizadas adequadamente, a presena
comunitria diminui e, portanto, limitam-se as possibilidades de sucesso
das polticas de preveno. Por isso, a etapa de concepo destas polticas
fundamental para no desgastar o interesse do cidado. Neste sentido,
o fortalecimento do conceito de parceria indispensvel na redefinio
destas polticas. Isto , reconsiderar o processo de participao comunitria
na preveno do crime, outorgando um papel central s necessidades
Luca Dammert
410
comunitrias e entender que a preocupao pelo tema criminal deve ser
um tema importante na agenda de trabalho, mas no excludente, para
desta maneira no transformar a participao em formas de conseguir
segurana privada e melhorar o espao local, mas sim como espao para
que sejam abordadas questes mais amplas e igualmente relacionadas com
as problemticas sociais, como a violncia na famlia e a toxicomania, entre
outras.
Finalmente, preciso ressaltar que o desenvolvimento destas
polticas marca um momento importante na definio das polticas de
segurana e do papel da comunidade neste processo. Por isso, preciso
manter uma postura de constante reviso das estratgias de ao, com o
fim de gerar uma experincia bem-sucedida de participao comunitria
na preveno do crime, que colabore em consolidar a construo da
cidadania nos pases do Cone Sul.
Tabela 1. Caracterizao da instituio policial
Diviso entre oficiais e tropa
Existncia de polcia
comunitria
Tarefas que desempenha
Existncia de centro de anlise
de informao
Dependncia governamental
Nmeros de membros
(aprox.)
rea de atuao
Capacitao em trabalho com a
comunidade
Existncia de um centro de
anlise sobre o tema
Fonte: Elaborao prpria, 2001.
So Paulo
Sim
Sim
Preveno
Sim
Governador
do Estado
80.000
Nacional
Sim
Sim
Santiago
Sim
No
Preveno
Sim
Ministrio
da Defesa
35.000
Nacional
Pouca
Sim
Crdoba
No
Sim
Preveno e
investigao
No
Ministrio
de Governo
11.000
Provincial
Mnima
No
Participao comunitria na preveno do crime na Amrica Latina
411
Tabela 2. Caracterizao dos
processos de mudana
institucional policial
Ano de incio
Inclui participao
comunitria
Modificao da estrutura
policial
Inclui polcia comunitria
Melhoria da base de
informao estatstica
Autor do programa
Patrulha a p
Coordenao com polticas
de participao comunitria
Existncia de controle
externo
Avaliaes desenvolvidas
(a)
Faz referncia ao plano quadrante
Fonte: Elaborao prpria, 2001.
So Paulo
1995
Sim
No
Sim
Sim
Polcia
Sim
Sim
Sim
Sim
Santiago
(a)
2000
No
No
No
Sim
Polcia
No
Sim
Em
processo
No
Crdoba
1999
Sim
Sim
Sim
No
Polcia/Governo
Sim
No
No
No
Luca Dammert
412
Tabela 3. Caracterizao de polticas de participao comunitria
Organismo encarregado
Organismo encarregado do
setor
Coordenao com a polcia
rea de influncia
Formao de associaes de
vizinhos
Avaliaes desenvolvidas
Desenvolvimento de
campanhas educativas
Desenvolvimento de suporte
tcnico para as polticas
Desenvolvimento de
indicadores para o
monitoramento das polticas
Convocatria aberta
comunidade
Existe avaliao
Fonte: Elaborao prpria, 2001.
So Paulo
Polcia
Militar
Polcia
Militar
Sim
Estadual
Sim
Sim
Sim
Sim
No
No
Sim
Santiago
Ministrio do
Interior
Prefeitura e
Ministrio do
Interior
Sim
Nacional
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
No
Crdoba
Ministrio
de Governo
Ministrio
de Governo
Pouca
Provincial
Sim
Sim
Sim
No
No
Sim
No
4. CONCLUSES
O objetivo central deste artigo foi apresentar e analisar trs polticas
de preveno comunitria do crime na Argentina, no Brasil e no Chile.
Nestes pases, o crescimento das taxas de crimes registrados e a sensao
de insegurana, assim como as limitaes dos atores estatais para
solucionar o problema, colocou em primeiro plano a estratgia de
participao comunitria como resposta alternativa a esta situao. Em
todos os casos, as polticas so destinadas, principalmente, a melhorar a
Participao comunitria na preveno do crime na Amrica Latina
413
relao entre a polcia e a comunidade, a consolidar ou criar redes sociais
e a diminuir a sensao pblica de insegurana.
necessrio ressaltar que as polticas analisadas fazem parte de
uma primeira gerao de polticas sociais relacionadas com a segurana,
cujo ator principal no a polcia. Neste sentido, sua importncia central
evidente no dimensionamento do papel da comunidade em temas como
a segurana, o crime e a preveno. Apesar desta notvel caracterstica,
estas polticas apresentam tambm uma srie de limitaes e desafios
que superam suas realidades locais. Portanto, sua anlise e debate so de
grande utilidade na hora de formular e avaliar o que ocorre em outros
pases da regio e o que pode ser realizado futuramente.
As polticas de preveno comunitria do crime so imprescindveis
para gerar um rompimento com a tendncia crtica atual. No entanto,
diversas mudanas devem ser previamente efetivadas para que seja
alcanado sucesso nesse caminho. Em linhas gerais, h quatro grandes
temticas que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, uma mudana
na estrutura policial que acompanhe o crescente papel da comunidade na
preveno. Depois, a necessidade de uma maior integrao e coordenao
entre os organismos pblicos dedicados ao tema, assim como com aqueles
que esto envolvidos em questes afins. Em terceiro lugar, imperativo
ampliar o papel da comunidade, convertendo-a em parte central das aes
preventivas locais e, portanto, atribuindo-lhe poder para propor
alternativas de soluo a temticas especficas. Finalmente, os pontos
anteriores s podero ser alcanados caso se consolide o papel ativo do
governo local.
Participao e estrutura policial
A probabilidade de sucesso das polticas de participao para a
preveno tem uma estreita relao com o papel da polcia em tais
estratgias. A realizao de mudanas institucionais central para alcanar
uma maior independncia na tomada de decises dos comandos locais:
independncia que pode incentivar os chefes de delegacias a implementar
propostas locais, j que evita trmites burocrticos lentos e complicados.
Em uma instituio hierrquica, muitas vezes autoritria, como a polcia, a
mudana costuma ser um processo de longo prazo, onde se requer um
bom planejamento das reas envolvidas, assim como dos objetivos que se
deseja alcanar.
Luca Dammert
414
A mudana da cultura institucional deve estar entre as primeiras
prioridades, j que a bibliografia analisada em pases desenvolvidos conclui
que a resistncia da polcia mudana e que a cultura institucional
(hierrquica, militarizada e autnoma) so os principais obstculos para
alcanar polticas bem-sucedidas de preveno e participao. Alm disso,
necessrio implementar um currculo de capacitao dos membros da
polcia que inclua trabalho com a comunidade, soluo de problemas,
mediao de conflitos e desenvolvimento de projetos, para dar resposta
a um maior nmero de situaes crticas.
Alm disso, necessrio definir a relao que a polcia estabelece
com as organizaes comunitrias. A implementao de estratgias policiais
com nfase na participao comunitria colocou em evidncia a carncia
de um padro de ao entre os membros do binmio polcia-comunidade.
Integrao e coordenao interinstitucional
Um dos maiores riscos que estas polticas enfrentam o desnimo
e a desconfiana da populao, que pode no estar disposta a participar
em um esforo sem ver uma pronta soluo de seus problemas
comunitrios. Igualmente, a falta de compromisso real das instituies
pblicas para apoiar estas estratgias gera uma diminuio da participao
e desconfiana quanto s iniciativas do setor pblico. Neste sentido,
prioritrio gerar uma rede interinstitucional de coordenao destas
polticas, que diminua a duplicao de atividades e coordene as aes de
diversos organismos pblicos no tema. Caso no seja realizada uma
verdadeira transformao dos servios por parte do Estado, o que neste
caso significa uma melhora palpvel na ateno ao cidado nas delegacias,
tribunais e demais organismos relacionados com a segurana, ser muito
difcil alcanar o compromisso da comunidade, freqentemente debilitado
por deficientes experincias de participao.
Ampliao do papel do cidado
As iniciativas analisadas so um excelente ponto de partida para
impulsionar a participao do cidado em uma variedade de temas que
envolvem a segurana: o uso dos espaos pblicos, as redes de conteno
para jovens, a gesto de projetos e a formulao de polticas pblicas.
necessrio aprofundar a participao nestas, permitindo a somatria de
atores e lderes comunitrios de diversos mbitos e a comunidade em
Participao comunitria na preveno do crime na Amrica Latina
415
geral. Esta abertura deve estar ligada a uma flexibilizao dos regulamentos
estabelecidos para cada uma das experincias de participao.
Evidentemente, a busca de financiamento prprio soma um notvel
problema naquelas comunidades empobrecidas nas quais seus habitantes
colaboram com seu tempo como recurso principal. Desta maneira, o
Estado deve garantir os fundos necessrios para que estas iniciativas
tenham assegurado seu desenvolvimento no tempo. Finalmente, preciso
desestimular a estigmatizao do outro, do delinqente, do esquisito,
j que o problema da segurana cidad um tema que envolve a todos e
onde no possvel estimular a diviso e a estigmatizao social. Desta
maneira, importante encorajar a participao do cidado considerado
diferente, cuja viso das necessidades e problemas da comunidade
essencial para a definio de polticas pblicas bem-sucedidas.
Em resumo, as associaes comunitrias necessitam assegurar sua
representatividade ao incorporar organizaes e indivduos interessados
na temtica. Neste sentido, transforma-se em ao central o
desenvolvimento de estruturas e processos que assegurem a participao
total da comunidade.
Gesto local e preveno comunitria
A particularidade da temtica da segurana cidad permite e requer
uma nfase local na formulao e implementao de polticas comunitrias.
Embora os contextos de aumento da criminalidade e de sensao de
insegurana sejam similares em diversos pases, evidente que os motivos
desta situao so diversos e multidimensionais em cada cidade ou bairro.
Desta maneira, os governos locais devem assumir um papel de protagonista,
no s nas polticas nacionais ou estaduais de preveno, mas tambm na
prpria formulao de polticas locais. Esta estratgia tem o potencial para
influir diretamente sobre os problemas locais, assim como para captar maior
ateno da comunidade, que se sente parte do problema e de suas solues.
Referncias Bibliogrficas
Araya Moya, J. (1999), Experiencias de participacin ciudadana en la prevencin local del
delito. Exitos y dificultades. Cadernos CED, N. 30, CED, Santiago.
Crawford, A. (1997), The Local Governance of Crime: Appeals to Community and Partnerships,
Clarendon Press, Oxford.
Dammert, L. (2001), La geografa del crimen en las principales ciudades argentinas: diagnstico
y perspectivas. Artigo apresentado no VI Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de
Luca Dammert
416
Investigadores sobre Globalizacin y Territorio. Rosario, Argentina.
Dammert, L e Malone, M. (2001), Inseguridad y temor en Argentina: El impacto de la confianza
en la polica y la corrupcin sobre la percepcin ciudadana del crimen. Desarrollo Econmico.
Buenos Aires, Argentina.
Dammert, L. (2000) Violencia Criminal y Seguridad Pblica en Amrica Latina: La Situacin en
Argentina. Serie Polticas Sociales N.43. CEPAL, Santiago de Chile
De Roux, G. (1994), Ciudad y violencia en Amrica Latina Em: Ciudad y violencias en Amrica
Latina. Programa de Gestin Urbana, Quito.
Durston, J. (2000), Qu es capital social comunitario? Serie Polticas Sociales N. 38. CEPAL,
Santiago.
Fajnzylber, P. (1997), What causes crime and violence? Banco Mundial, Washington, DC.
Frhling, H. (2001a), Police and Society in transitional countries: the case of Latin America. Artigo
apresentado no Workshop Internacional organizado pelo Danish Centre for Human Rights. (mimeo)
Goldstein, H. (1998) Problem Oriented Policing. Ac Graw Hill, Nueva York.
Moser, C. e Holland R. (1997), Urban poverty and violence in Jamaica. BID. Washington DC.
Olivera A. e Tiscornia S. (1998), Estructuras y Prcticas de las policas en la Argentina. Las redes
de la ilegalidad. Em: Frhling H. (edit), Control Democrtico del Mantenimiento de la Seguridad.
Centro de Estudios para el Desarrollo, Santiago.
Oviedo, E. (2000), Santiago, violencia, delitos e inseguridad. SUR, (mimeo)
Paz Ciudadana (2000a), Plan Comuna Segura. Em: Hechos. Fundacin Paz Ciudadana, Santiago.
Putnam, R. (1993), Making democracy work: Civic traditions in Modern Italy. Princeton University
Press, Princeton.
Smulovitz, C. (2001), Policiamiento Comunitario en Argentina, Brasil y Chile: Lecciones de una
Experiencia Incipiente.Apresentado ao Grupo de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana do Woodrow
Wilson International Center for Scholars.
Trojanowicz, R. e Bucqueroux, B. (1998), Community Policing: How to get Started. Anderson, Ohio.
Van Dijk, J. (1999), Crime Prevention Policy: current state and prospects Em: Kaiser, G y Albrecht
H. Crime and criminal policy in Europe. Criminological research report, vol. 43. Freiburg.
Notas
1
O presente artigo uma verso resumida do texto de mesmo ttulo, publicado pelo Centro de
Estudos do Desenvolvimento, Santiago (2003). www.policiaysociedad.org
2
So as instituies, relaes e normas que do corpo qualidade e quantidade de interaes
sociais. Diversos estudos enfatizaram este conceito e sua relao com o crime. Assim, por
exemplo, um recente estudo concluiu que as comunidades com pouco ou deficiente capital
social deveriam ser mais suscetveis violncia (BID, 1999). Para maiores detalhes, ver:
Durston, 2000; Fajnzylber, 1997.
3
importante mencionar a existncia de experincias de participao em preveno do crime
que foram impulsionadas pela comunidade, sem participao governamental. Para maiores
detalhes, ver: Smulovitz, 2001.
4
Informao da Secretaria de Justia e Segurana Cidad, Cidade de Buenos Aires, Argentina.
5
As mudanas institucionais aprovadas em janeiro de 2001 ainda no foram implementadas na
sua totalidade, motivo pelo qual no possvel avaliar o sucesso desta poltica.
Participao comunitria na preveno do crime na Amrica Latina
417
B
R
A
S
I
L
Artigo
A BUSCA POR DIREITOS: POSSIBILIDADES E
LIMITES DA PARTICIPAO SOCIAL NA
DEMOCRATIZAO DO ESTADO
Ana Paula Mendes de Miranda
*
Trata-se de uma discusso sobre a participao da sociedade
civil na busca por direitos e sua relao com a democratizao
estatal, processo que sempre marcado por conflitos. Inicialmente,
tomou-se por referncia a conjuntura scio-histrica de construo
da cidadania no Brasil, em comparao com outros pases da Amrica
Latina, ressaltando as tradies polticas autoritrias e
patrimonialistas, que representam obstculos delimitao do
espao pblico como um campo de relaes fora do contexto privado.
Por fim, discutem-se as caractersticas dos Conselhos Comunitrios
de Segurana como um instrumento de ampliao da participao
social, para problematizar seus limites e possibilidades, tomando
por base a experincia do Rio de Janeiro, e sua contribuio na
construo de polticas pblicas.
INTRODUO
Uma sociedade pode ser analisada a partir de dois aspectos
aparentemente opostos, os fatores de manuteno da ordem social,
relacionados s tradies, e suas foras de transformao, relacionadas
mudana social. Seja qual for a abordagem, preciso reconhecer que os
conflitos so inerentes e necessrios s sociedades, j que so sistemas
abertos de interaes individuais, organizacionais e institucionais.
Atualmente, tem sido comum crticas e cobranas relativas falta
de mobilizao e participao da sociedade em contextos variados. Mas
o que isso realmente significa? Ser que vivemos um momento de total
individualizao destruidora, cuja prioridade a busca de dinheiro a
qualquer preo, ou estamos diante de modelos diferenciados sobre o
*
Diretora-Presidente do Instituto de Segurana Pblica, professora da Universidade
Candido Mendes e doutora em Antropologia (USP)
que participar da vida social? Que temas mobilizam hoje os indivduos?
Pretendo levantar algumas questes sobre a participao da
sociedade na busca por direitos e sua relao com a democratizao estatal,
418
processo que tanto pode ser influenciado por conflitos provocados pelas
mudanas, quanto por conflitos advindos da manuteno de modelos e
prticas sociais. No se trata, portanto, de uma reflexo sobre a histria
dos movimentos sociais
1
, mas sim sobre as possibilidades e limites da
mobilizao social na construo do Estado Democrtico de Direito.
Parte-se do pressuposto de que o Estado pode ter a pretenso
tanto de coordenar, quanto de comandar as relaes entre os diferentes
grupos (Velho, 1995). Portanto, a democracia no deve ser compreendida
como um processo evolutivo, posto que no se realiza unicamente na
existncia de um conjunto de garantias institucionais e formais, mas como
uma forma para administrar os conflitos entre sujeitos, em face de lgicas
distintas vigentes nos sistemas sociais.
Nesse sentido, a democracia deveria propiciar o reconhecimento
de que cada experincia de classe/grupo/categoria produz uma viso de
mundo, e que essas vises constituem a riqueza das sociedades. Somente
assim, pode-se pensar que a democracia deve garantir o respeito s
diferenas individuais e pluralidade, como um estmulo criao de
espaos para a participao de sujeitos cada vez mais receptivos.
necessrio esclarecer que a idia de sujeito no representa aqui o
sinnimo de indivduo, mas sim a vontade de uma pessoa ou grupo de
atuar e modificar seu meio social mais do que ser determinado por ele.
Inspirada em Alain Touraine (apud Gadea & Scherer-Warren, 2005),
considero que o conceito de sujeito social
2
mais adequado para pensar
o contexto da Amrica Latina, do que o conceito de classe social
3
, que
apresenta escassa verificao emprica e pouca utilidade para compreender
essa diversidade de cenrios.
A CONSTRUO DE SUJEITOS DE DIREITOS E A BUSCA POR
DEMOCRATIZAO
Para melhor compreender como o sujeito interfere na sua realidade
importante ressaltar algumas experincias scio-polticas recentes que
influenciaram o debate sobre a democratizao no mundo:
as lutas polticas contra o socialismo autoritrio que
marcaram a Europa Oriental, a partir de meados da
dcada de 1970;
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
419
a crise do Estado de Bem-estar Social dos pases
capitalistas desenvolvidos, a partir da dcada de 1980;
as transies latino-americanas de ditaduras militares para
governos democrticos, a partir do fim da dcada de 1970.
Vrios autores consideram que os anos 70 representaram o
ressurgimento da sociedade civil
4
em oposio ao Estado autoritrio, porm
preciso compreender como esses processos foram distintos nos pases
da Amrica Latina. Naquela poca, o debate foi marcado por estudos que
compreendiam a Amrica Latina como uma realidade dual, dividida em uma
face moderna e outra atrasada, cuja tica era o estudo das elites e dos
processos de desenvolvimento. Por outro lado, havia uma viso anti-estado
nos movimentos sociais, devido oposio ao regime militar.
somente na dcada de 80 que comea a se intensificar a produo
acadmica sobre os movimentos sociais, o que coincide com o que Ruth
Cardoso (2004) chama de perodo da institucionalizao dos movimentos.
Assim, o contexto poltico da redemocratizao possibilitou o
estabelecimento de novas formas de relao entre os movimentos, as
agncias pblicas e os partidos polticos. Um outro fator importante para
a compreenso dos movimentos sociais, no Brasil
5
, est relacionado com
a influncia da Teologia da Libertao
6
, que mobilizou e engajou camadas
pobres da populao na busca por justia social.
Avzriter & Costa (2004) afirmam que, nos ltimos anos, o debate
sobre a participao da sociedade civil se processou em consonncia
com o debate mundial sobre o tema, de modo que a construo de uma
teoria da sociedade civil latino-americana e seus usos analticos
ocorreram num contexto de uma i nterpretao soci ol gi ca da
democratizao e das novas democracias
7
.
J Aldo Panfichi e Paula Valeria Muoz Chirinos defendem que a
sociedade civil deve ser entendida como uma esfera social autnoma do
Estado, sendo uma construo social relativamente nova na Amrica Latina.
Propem uma definio flexvel de sociedade civil, como uma esfera de
ao intermediria, situada entre o Estado e as famlias, em que grupos e
associaes de indivduos se organizam de maneira autnoma e voluntria
com o objetivo de defender e ampliar a vigncia de seus direitos, valores
e identidades, bem como para exercer controle e fiscalizar a ao das
autoridades polticas (2002: 305).
Ana Paula Mendes de Miranda
420
Entretanto, Alberto Olvera considera problemtico falar de uma
sociedade civil, pois na realidade temos um conjunto diverso, heterogneo
e plural de atores sociais, instituies e prticas. Para ele, a sociedade civil
seria a correlao de um sistema legal e institucional que estabelece,
protege e atualiza os direitos cidados; um conjunto de movimentos sociais
e de associaes civis que so social, poltica e ideologicamente
heterogneos; uma cultura poltica ancorada numa diversidade de espaos
pblicos, favorvel tolerncia e ao respeito mtuo e inclinada a uma
relao crtica com o Estado e o mercado (2002:352).
O que h de consenso neste debate que no se pode idealizar a
sociedade civil, j que ela resultado de um processo histrico. E, no
caso da Amrica Latina, observa-se o predomnio do impacto de reformas
econmicas neoliberais
8
, de experincias autoritrias, de uma frgil
democratizao e da ausncia de separao entre o interesse pblico e o
privado no exerccio do poder.
Considero mais adequada a proposta analtica de Panfichi e Chirinos
(op. cit.), pois permite contemplar de modo mais amplo a diversidade de
grupos em conflito, possibilitando a pesquisa sobre a participao de grupos
conservadores, muitas vezes esquecidos nas investigaes
9
.
Segundo Jos Murilo de Carvalho (2003), alguns fatos foram
relevantes no cenrio poltico brasileiro no processo de redemocratizao,
a saber: a aprovao da Constituio mais liberal e democrtica que o
pas j teve, em 1988, que adotou o princpio geral da democracia
participativa; o restabelecimento de vrios procedimentos democrticos
formais e abertura a novas foras polticas; e a primeira eleio direta para
presidente desde 1960, em 1989, provocando uma ampliao dos direitos
polticos numa escala indita no pas. Destaca, tambm, o Movimento dos
Sem-Terra (MST) como um avano que resultou da redemocratizao do
pas, pois representou a incorporao vida poltica de uma parcela da
populao tradicionalmente excluda pela fora do latifndio. Embora
reconhea que os mtodos utilizados podem tangenciar a ilegalidade (invaso
de terras pblicas ou no cultivadas), Jos Murilo de Carvalho acha que os
mesmos devem ser considerados legtimos em funo da lentido histrica
dos governos em resolver o problema agrrio no pas.
Outro indicador do processo de democratizao das relaes entre
sociedade e Estado seria o surgimento de organizaes no-
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
421
governamentais, porque provocam a ampliao da participao social no
diagnstico, encaminhamento e soluo de problemas sociais. Neste
processo possvel se observar o desenvolvimento de estratgias de
empoderamento que levam os atores da sociedade civil organizada a se
perceberam como sujeitos sociais, ou seja, a busca por direitos que
possibilita que a cidadania se enraze nas prticas sociais.
No entanto, a democratizao da esfera poltica no contribuiu para
a resoluo de problemas econmicos (desigualdade e desemprego), bem
como de problemas sociais (educao, sade e saneamento), observando-
se tambm um agravamento da situao que ameaa aos direitos civis
(segurana individual e pblica) com o crescimento das violncias e da
criminalidade em todo o pas.
No caso do Brasil, a luta contra o autoritarismo e a transio para a
democracia, mesmo reunindo diversos setores, contribuiu para uma viso
homogeneizada da sociedade civil, deixando marcas no debate terico e
poltico. Uma das conseqncias deste processo a existncia de uma
tradio cultural ambgua em relao democracia, j que o autoritarismo
influenciou prticas da vida cotidiana e das relaes do poder estatal com
a populao, em especial, as que se referem ao tipo de industrializao e
urbanizao, ou seja, aos processos de remoo e reassentamento das
populaes, marcados por prticas excludentes.
Deste modo, o retorno s instituies formais democrticas no
produziu o encaminhamento adequado pelo Estado dos problemas da
excluso e desigualdade social, suscitando a necessidade de constituio
de prticas sociais mais democrticas, que demarcassem melhor a
separao entre a sociedade civil e o Estado, visando ampliao e ao
aprofundamento do controle do Estado pela sociedade.
A dcada de 1980 foi marcada pela redefinio da noo de cidadania,
empreendida pelos movimentos sociais e por outros setores, na busca
por uma sociedade mais igualitria, baseada no reconhecimento dos
membros como sujeitos portadores de direitos. Para Evelina Dagnino
(2004), a radicalizao da noo de cidadania representa a reavaliao do
conceito
10
, que tem como dimenso positiva sua relao com uma
concepo de justia redistributiva. A cidadania radical entendida como
uma identidade poltica, e no apenas um estatuto legal que se refere a um
ser passivo de direitos, que goza da proteo da lei (Mouffe,1992). Esta
Ana Paula Mendes de Miranda
422
concepo de cidadania rejeita a idia do universalismo do pblico em
oposio ao domnio privado. Sendo assim, no mais possvel se dizer
aqui terminam os meus deveres como cidado e comea minha liberdade
como indivduo!, j que essas identidades existem em permanente tenso.
Portanto, a criao da identidade coletiva do cidado democrata depende
das formas pelas quais cada sociedade vivencia esta experincia. Para
entender a cidadania radical preciso responder seguinte pergunta: o
que ser cidado na minha sociedade?
A dcada de 1990 se iniciou regida pela adoo de ajustes estruturais
provocados por polticas neoliberais, que implicaram em dificuldades
significativas no ritmo da democratizao, cujos efeitos foram o agravamento
das desigualdades sociais e econmicas, bem como as influncias sobre a
capacidade de mobilizao e organizao poltica da sociedade civil.
A dimenso positiva deste contexto foi a transformao nas relaes
entre Estado e sociedade civil que, segundo Evelina Dagnino (2002),
deixaram de ser de antagonismo, confronto e oposio declarada, para
assumir uma postura de negociao, de atuao conjunta.
Outras duas conseqncias desse processo seriam a revitalizao
da sociedade civil, ou seja, o aumento do associativismo, a emergncia de
movimentos sociais organizados, a reorganizao partidria, e a
democratizao do Estado, desenhando o seguinte cenrio poltico:
a reduo do papel do Estado como fonte de direitos
e de participao;
o deslocamento da idia de nao como fonte da
identidade coletiva;
o surgimento de organismos polticos e burocrticos
supranacionais;
o cidado se torna cada vez mais um consumidor,
afastado de preocupaes polticas e dos problemas
coletivos;
o surgimento de organizaes no-governamentais
11
que esto voltadas para o interesse pblico;
a formulao e execuo de polticas publicas
alternativas e democrticas, que tentam romper os
vcios do paternalismo e clientelismo.
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
423
A isso se soma um progressivo enfraquecimento e transformao
das formas tradicionais de organizao de interesses, de representao
poltica e solidariedades vigentes durante o sculo XX. Na Argentina, no
Chile, na Colmbia e no Peru este processo tem sido observado pela
crise dos sindicatos, pelo enfraquecimento dos partidos polticos, pela
transformao das formas de filantropia e a mudana dos projetos polticos
que enfatizavam a classe operria como ator principal da construo da
cidadania. Em contrapartida, observa-se o surgimento de novas formas
de associao e organizao da sociedade civil como reao a novas formas
de dominao, tais como, a superexplorao dos recursos naturais e
destruio do meio ambiente
12
, os movimentos contra o autoritarismo, o
racismo e a discriminao de gnero
13
, que buscam a constituio de uma
poltica de direitos humanos
14
(Alvarez et al, 2000; Dagnino, 2002).
No Mxico, observa-se uma agenda diferenciada de demandas da
sociedade civil em busca da governabilidade democrtica, que foi
fortemente determinada por outros fatores, em especial, a centralidade
das disputas pela democracia eleitoral, a resistncia do regime autoritrio
s iniciativas civis de reforma nas reas trabalhista, agrria, social e direitos
indgenas, com baixa participao da Igreja Catlica no debate, e a
implantao de uma poltica econmica neoliberal (Olvera, 2002).
De modo geral, observa-se que o associativismo predominante dos
anos 90 no deriva de mobilizao de massas, tradicionalmente composta
a partir de ncleos de militantes que se dedicam a uma causa, mas sim de
processos de mobilizaes pontuais, realizados a partir do atendimento a
um apelo feito por alguma entidade, fundamentado em objetivos
humanitrios.
Assim, o novo associativismo, tambm chamado de participao
cidad, mais propositivo e menos reivindicativo, sendo baseado numa
concepo ampla de cidadania, que no se restringe ao direito ao voto,
mas reconhece o direito vida. Baseia-se, portanto, numa concepo de
cultura cidad, fundada em valores ticos universais e impessoais, em uma
concepo democrtica radical, e em aes e regras mnimas
compartilhadas que geram sentido de pertencimento, facilitam a
convivncia urbana e asseguram o respeito diversidade. Envolve tambm
o reconhecimento de direitos e os deveres do cidado, onde os deveres
se articulam idia de civilidade, diferentemente da concepo neoliberal
de cidadania que exclui a valorizao dos direitos.
Ana Paula Mendes de Miranda
424
CIDADO X ESTADO: OS DESAFIOS DA CONSTRUO DE
ESPAOS PBLICOS
A nfase atual na radicalizao da cidadania ressalta a necessidade
de se pensar as condies bsicas da existncia da sociedade civil, ou seja,
a vigncia de conjunto de direitos, e suas conseqncias no que se refere
construo de espaos pblicos.
O conceito de espao pblico tem sido utilizado com mltiplos
sentidos, sendo a base da teoria crtica
15
. Em funo do escopo deste
trabalho, no ser possvel traar a trajetria do conceito, cabe apenas
ressaltar sua relao com o processo de democratizao.
Para Habermas (1984), a esfera pblica um espao de mediao
legal entre os poderes pblicos, a sociedade poltica, a sociedade civil e a
mdia, que gera um espao de discusso livre e racional do exerccio da
autoridade poltica. Esta viso do espao pblico, separado da esfera
privada e do Estado, tem sido fortemente criticada por reduzir as relaes
sociais a uma mera troca de argumentos racionais.
Daniel Cefa (2002) questiona o carter esttico do conceito de
espao pblico, que no daria conta da dramaticidade dos conflitos. Sugere
a retomada do conceito de arena pblica pelo duplo sentido da palavra,
ou seja, a arena significa um lugar de combate e um lugar de performances.
O autor enfatiza a necessidade de anlise das prticas para que o significado
de pblico deixe de ser pensado como um organismo social ou poltico,
e passe a ser concebido como uma forma estranha de vida coletiva que
emerge em torno de um problema ao mesmo tempo em que o constitui.
Assim, os atores individuais, organizacionais e institucionais se
engajam em um esforo coletivo de definio e de controle da situao
percebida como problemtica. Eles exprimem, discutem e julgam opinies;
identificam os problemas; entram nas disputas; configuram os jogos de
conflito, resolvem crises e realizam compromissos. Os atores se apropriam
da coisa pblica de modo que ela deixe de ser monoplio do Estado, sem
que se torne um bem particular.
Tanto os conceitos de espao pblico quanto o de arena pblica
apresentam limitaes para pensar a sociedade brasileira, tendo em vista
que ambos tomam como referncia sociedades em que a cidadania e o
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
425
respeito aos direitos do cidado foram contemplados no apenas no plano
das normas, leis e regras, mas tambm est presente em diferentes
dimenses da vida social.
Tal cenrio no pode ser observado no Brasil, j que h uma
desarticulao entre a esfera pblica
16
e o espao pblico
17
(Cardoso de
Oliveira, 2002), revelada pela ausncia efetiva de espaos democrticos,
muito embora exista hoje uma clara hegemonia da idia/princpio da
igualdade como um valor no plano dos discursos. Em outras palavras, a
desarticulao entre a esfera e o espao pblicos ope o discurso jurdico-
poltico em favor da igualdade s interaes cotidianas, que priorizam
uma perspectiva hierrquica, caracterizando o que Roberto Kant de Lima
chama de o paradoxo legal brasileiro (1995).
Como conseqncia desse processo, pode-se observar a
prevalncia, no Brasil, de uma discriminao cvica, entendida como um
padro abrangente de desrespeito a direitos e de agresso cidadania
(Cardoso de Oliveira, 2004).
Uma outra conseqncia a dificuldade de se pensar o domnio
pblico como o espao universal de interao social de indivduos
diferentes mas iguais (Kant de Lima, 2001:109). Ao contrrio, o domnio
pblico entendido como aquele que controlado pelo Estado, de acordo
com suas regras, e que pode ser apropriado particularizadamente. A
sociedade concebida como uma estrutura de segmentos desiguais e
complementares, representando uma idia de igualdade substantiva,
associada semelhana e no diferena entre as pessoas. O cidado
quase um intruso, que normalmente no conhece o seu lugar, que
longe do Estado. Assim, o cidado est sempre em oposio ao Estado e
vice-versa.
Neste modelo, a idia de conflito aparece como uma desarrumao
da ordem, que pe em risco a estrutura social, em conseqncia, a
resoluo de conflitos no representa a soluo das desigualdades que
incomodam, mas a sua manuteno de forma ordenada.
O conflito como um obstculo o oposto idia vigente nos
movimentos sociais contemporneos, segundo o qual o conflito o
pressuposto da ordem social e sua resoluo representa a construo de
uma nova ordem, que, ao eliminar as desigualdades, mantm as diferenas.
Ana Paula Mendes de Miranda
426
A diferena, aqui, associada idia de igualdade formal
18
, ao direito de
ser diferente (Kant de Lima, 2001:117). Nesta tica, os direitos no
correspondem s garantias inscritas nas leis e nas instituies, e sim ao
modo pelo quais as relaes sociais se estruturam
19
.
Constitui-se, ento, num grande desafio pensar os espaos pblicos,
nos termos propostos por Evelina Dagnino, ou seja, como instncias que
visam promover o debate amplo no interior da sociedade civil sobre
temas/interesses at ento excludos de uma agenda pblica (2002: 10),
e que podem se constituir em espaos de ampliao e democratizao da
gesto estatal, na medida em que se observa a implantao de conselhos,
fruns, cmaras setoriais, oramentos participativos, etc. Estas
experincias poderiam constituir espaos de construo de uma dimenso
pblica na sociedade brasileira, distinta da regulao estrita do Estado ou
do mercado, que poderiam fortalecer a consolidao de uma cultura de
direitos, por meio do exerccio efetivo da democracia.
Estes encontros entre a sociedade civil e o governo podem
contribuir para a democratizao dos espaos pblicos se funcionarem
como esforos de controle social do Estado, visando maior transparncia
e publicizao das polticas pblicas
20
, assim como participao efetiva na
sua formulao de setores da sociedade civil desprovidos de outras formas
de acesso a espaos de deciso (Dagnino, 2002: 11).
O desafio no pequeno, tendo em vista que, no Brasil, h diversos
obstculos a serem superados, dos quais destaco:
a superao da perspectiva de que direitos sejam
apenas garantias inscritas na lei e nas instituies;
a reestruturao do Estado brasileiro, com a
transformao de sua tradio de patrimonialismo e
clientelismo;
a reviso do papel do cidado, que cada vez mais se
torna um mero consumidor, afastado de preocupaes
polticas e dos problemas coletivos;
a inadequao dos rgos encarregados da segurana
pblica e da justia para o cumprimento de sua funo,
numa perspectiva democrtica;
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
427
o fim da diviso em classes no que se refere garantia
dos direitos civis: os de primeira classe (doutores); os
de segunda classe (os cidados simples) que esto
sujeitos aos rigores e aos benefcios da lei; e os de
terceira classe (os elementos), ou ignoram seus
direitos ou os tm sistematicamente desrespeitados
por outros cidados, pelos governos e pela polcia.
H que se considerar que se no h a garantia da igualdade jurdica
dos cidados, no h como se pensar em direitos civis no Brasil enquanto
vigorar a idia de que uns so mais iguais que outros. Do mesmo modo,
no ser possvel se pensar na construo de um espao pblico
democrtico, que seja fundado na representao plural dos interesses.
Nesse sentido, acredito que o desafio pode ser pesando sob
trs perspectivas.
1. As demandas por direitos ocorrem num cenrio
complexo, onde as diferentes tradies polticas tm
gerado modos peculiares de combinar elementos
participativos e autoritrios. Assim, pode ser possvel
compreender como as polticas populistas foram
capazes de impulsionar grandes mobilizaes
populares, abrir espao para as classes trabalhadoras
e implantar alguns direitos sociais, ao mesmo tempo
em que proporcionava a subordinao da classe
trabalhadora, de modo clientelista, s elites polticas.
2. Como o retorno democracia, e seus efeitos,
podem conviver com um universo de violncias
extremas (Peralva, 2000)? A esta questo no se pode
apresentar respostas simplistas (pobreza,
desorganizao familiar, etc.). Somente ser possvel
avanar neste debate se reconhecermos a confluncia
de dois problemas: a formao de uma confitualidade
urbana, marcada por uma busca dos sujeitos por um
lugar no mundo, e a inabilidade das instituies diante
das exigncias da democracia.
3. Se a mobilizao da sociedade civil organizada pode
significar a conquista de direitos, e no de privilgios,
Ana Paula Mendes de Miranda
428
representando a ressignificao das relaes pblico-
privado, que levaro superao do padro
oligrquico, autoritrio e patrimonialista, que tm
marcado a sociedade brasileira.
FAZENDO A DEMOCRACIA COM AS PRPRIAS MOS?
A utilizao de conselhos como instrumento de ampliao da
participao social no um fenmeno novo e est associada a diferentes
discursos. Nos chamados grupos polticos de esquerda, os conselhos
so apresentados como ferramentas que possibilitam a transformao social,
voltada para a democratizao das relaes de poder. Como exemplo,
podemos relembrar as comisses internas de fbricas, defendidas por
Antonio Gramsci ([1919]1981) como a base da auto-organizao operria.
J os discursos polticos ditos liberais apresentam os conselhos
como mecanismos de colaborao entre os diferentes setores da sociedade,
j que estimulariam o ativismo associativo, como um espao societrio de
deliberao e deciso. A democracia estaria diretamente relacionada
participao poltica e ao desenvolvimento de uma cultura cvica
21
,
proporcionando a neutralizao do privatismo e ampliao da visibilidade
da esfera pblica, favorecendo a transparncia e a inteligibilidade. Deste
modo, uma sociedade civil formada por associaes que respeitem esses
princpios funcionaria como um amortecedor para as presses e
cooptaes de setores no organizados da sociedade, cujos resultados
seriam a reduo das desigualdades civis e da vulnerabilidade dos grupos
sociais excludos.
Para Hannah Arendt (1999), o sistema de conselhos seria um
resultado espontneo de todas as revolues e ps-guerras do mundo
ocidental, fruto da prpria experincia da ao poltica. J para Habermas
(1997), os conselhos exemplificariam a esfera pblica como uma rede de
comunicao de contedos, tomadas de posies e opinies. Para tanto,
seria necessrio o desenvolvimento de uma cultura cvica, que fosse
representativa dos princpios de reciprocidade da sociedade e que
estimulasse a construo de dispositivos de participao social. Ressalta-
se que essas vises so limitadas, pois possuem implcita a idia de que o
indivduo somente ligado vida associativa seria capaz de tomar decises
e assumir responsabilidades.
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
429
Por sua vez, a abordagem das Cincias Sociais acerca dos conselhos,
a partir dos anos 90, tem enfatizado a noo de governana democrtica
como a possibilidade de interao entre instituies governamentais,
agentes do mercado e atores sociais visando a ampliao da participao
social nos processos decisrios das polticas pblicas
22
. A preocupao
de cientistas sociais est no apenas na capacidade de governar, mas na
possibilidade de incluso e participao social como elementos bsicos
do exerccio da cidadania.
Assim, os conselhos so considerados como uma possvel forma
de governo horizontal, ou seja, de um sistema onde o poder no vem de
cima ou de baixo, onde as relaes de poder so resultado de interaes
e controles mltiplos e recprocos.
Considerando que o fenmeno associativo multidimensional,
necessrio privilegiar sua dimenso microssocial para observar como so
construdas as formas de interveno capazes de desenvolver dimenses
cvicas e democrticas, colocando em cheque posturas clientelistas ou
corporativas.
Os dados que embasam esta reflexo so provenientes do trabalho
de (re) organizao dos Conselhos Comunitrios de Segurana (CCS)
23
,
criados formalmente pelo artigo 182, 2
o
, da Constituio Estadual do
Rio de Janeiro, de 05 de outubro de 1989. Os CCS so canais de
participao popular de carter consultivo, organizados por uma diretoria
eleita, que discute e cobra solues para os problemas relativos segurana
da sua rea. Aos policiais cabe o papel de prestar contas e responder s
demandas. Caracteriza-se por ser um encontro com relaes formalizadas,
ou seja, regulado por uma legislao especfica, com objetivos, funes
e procedimentos razoavelmente definidos, alm de possuir um carter
permanente ou estvel.
A sua implantao se deu a partir de 1999 por meio de uma
resoluo da Secretaria de Estado de Segurana Pblica, tendo sido
reestruturado em 2005
24
, como parte de uma poltica de aproximao
entre sociedade civil e Estado para a melhoria da segurana pblica
25
.
Alm da democracia participativa, o programa abrange uma perspectiva
da abordagem gerencial, que se baseia, teoricamente, na premissa da
descentralizao, no controle de resultados e no de procedimentos, na
competio administrada e no controle social direto.
Ana Paula Mendes de Miranda
430
Do ponto de vista terico, o discurso da participao popular no
desenho de polticas pblicas tem servido para questionar o padro
centralizador, autoritrio e excludente que historicamente tem marcado as
relaes entre as agncias estatais e seus beneficirios, buscando articular a
democratizao do processo com a eficcia dos resultados (Dagnino,
2002: 47). Assim, a sociedade poderia exercer um papel mais efetivo na
fiscalizao da qualidade dos servios pblicos e poderia imprimir uma lgica
mais democrtica na definio de prioridades de alocao de recursos.
Para Boaventura de Sousa Santos (2006), a luta pelo controle
democrtico do Estado hoje uma das mais decisivas na crtica aos
modelos vigentes de regulao social. Ele denomina novssimo movimento
social o processo de reinveno democrtica do Estado, que deve
estimular novas formas de cidadania, coletiva e no apenas individual;
incentivar a autonomia e combater a dependncia burocrtica; personalizar
e localizar as competies interpessoais e coletivas, ao invs de sujeit-
las. Esta abordagem implica em que o Estado deve considerar legtimas
no s as reivindicaes que visam ao atendimento s necessidades bsicas,
mas tambm aquelas que visam transformao social emancipatria,
que permita alterar as relaes de poder desigual em relaes de
autoridade partilhada (Santos, 2005).
No Brasil, desde 1996, a legislao em vigor, preconiza que o
recebimento de recursos pelos municpios para as reas sociais est
condicionado existncia de conselhos gestores (Gohn, 2000). No que
diz respeito segurana, o condicionamento de liberao de verbas
somente comeou em 2003, com a criao do Sistema nico de Segurana
Pblica (Susp), que cobra a implantao de Conselhos Comunitrios de
Segurana. Tal exigncia pode comprometer a perspectiva de reinveno
democrtica, na medida em que a obrigatoriedade seja reinterpretada
como uma formalidade burocrtica.
Este enfoque delimita os Conselhos Comunitrios de Segurana
como uma variao de conselhos gestores de polticas pblicas, peas
essenciais no processo de democratizao, universalizao e
descentralizao das polticas sociais. Geralmente, so ligados s polticas
pblicas estruturadas em sistemas nacionais. Embora, nem sempre tenham
carter obrigatrio, funcionam como fruns pblicos de captao de
demandas e negociao de interesses especficos dos diversos grupos e
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
431
como forma de ampliar a participao dos segmentos com menos acesso
ao aparelho de Estado.
A dimenso comunitria representa que o objetivo dos Conselhos
servir de espaos de apresentao de demandas da comunidade junto
s elites polticas locais, numa relao que renova a tradicional relao
clientelista entre Estado e sociedade (Tatagiba, 2002: 53-54). Assim, a
principal caracterstica do conselho comunitrio seria o poder de
mobilizao e presso sem, no entanto, ter um carter deliberativo.
Os conselhos gestores de polticas pblicas devem funcionar como
espaos pblicos com composio plural e paritria, cujos instrumentos
privilegiados de resoluo de conflitos so o dilogo e a publicidade, que
os diferencia de instncias polticas onde imperam as trocas de favores e
a cooptao pelo poder pblico.
Em muitos casos, os conselhos gestores funcionam como instncias
deliberativas com competncia legal para formular polticas e fiscalizar a
sua implementao. No Brasil, quando um conselho tem funes
deliberativas com respeito s polticas pblicas, suas decises devem ter
forma de resoluo e devem ser publicadas em dirio oficial para ter
validade.
Salienta-se que a discusso sobre a funo deliberativa dos conselhos
deve levar em considerao alguns fatos que complexificam esta funo, a
saber: o baixssimo grau de participao social e representatividade dos
movimentos sociais; as concepes oportunistas, que encaram os
conselhos como instrumentos para realizao de objetivos particulares
(lcitos ou ilcitos); a (no) capacitao dos conselheiros; a publicidade e
fiscalizao das aes dos conselhos.
De qualquer modo, as reunies de um conselho devem ser abertas
comunidade, mesmo que no tenha direito a voto. necessrio ainda
que cada conselho elabore seu regimento interno que, depois de aprovado,
deve ser submetido ao Poder Executivo para aprovao
26
.
No caso especfico dos Conselhos Comunitrios de Segurana h
dois obstculos que merecem ser ressaltados antes de discutir os limites
e alcances desta experincia. O primeiro corresponde ao fato de que
estes conselhos tm sido criados, no Brasil, por fora de instrumentos
Ana Paula Mendes de Miranda
432
legais relacionados distribuio de recursos pblicos, e no por uma
demanda de movimentos sociais
27
. E o segundo tem a ver com a dimenso
de que o que pblico no entendido como algo da coletividade, mas
algo que no tem dono, algo que apropriado particularizadamente e
controlado pelo Estado (Kant de Lima 1997; Miranda 2000 e 2005).
Por outro lado, a implantao de Conselhos Comunitrios de
Segurana uma experincia que deve ser desenvolvida e analisada, porque
ele pode constituir um espao pblico de debate entre interesses
diferenciados, levando construo de consensos e formulao de
agendas que venham a se tornar pblicas e objeto de considerao por
parte do Estado. Embora o vnculo com o Estado permanea, observa-se
uma dimenso que enfatiza a organizao e o fortalecimento dos prprios
atores da sociedade civil e de sua articulao, e a democratizao das
instituies de segurana, tradicionalmente mais refratrias interao
com a populao.
PORTAS ABERTAS PARA A COMUNIDADE: ENCONTROS E
DESENCONTROS DOS CONSELHOS DE SEGURANA PBLICA
Ao pensar o Conselho Comunitrio de Segurana como um mecanismo
de participao da sociedade civil, pretendeu-se discutir se os princpios
inovadores dos conselhos gestores podem se tornar prticas polticas
inovadoras. Embora haja poucos estudos voltados ao tema
28
, possvel se
delinear uma anlise comparativa sobre os limites e as possibilidades deste
espao pblico. Esta avaliao no permite verificar os resultados desta ao,
apenas possibilita a discusso sobre a validade do CCS como um frum de
debates entre atores diferentes, que se vem como desiguais.
A falta de pesquisas empricas sobre os CCS no permite verificar
qual tem sido sua capacidade de reduo das desigualdades polticas, ou
seja, se de fato tem provocado um avano qualitativo para a democracia
(Kerstenetzky, 2003). Por outro lado, as pesquisas sobre a participao
da sociedade civil brasileira em outros espaos pblicos tm demonstrado
que o processo de construo democrtica no linear, e sim contraditrio,
setorial e fragmentado (Dagnino, 2002).
Reconhecer essas limitaes uma das condies necessrias para
tornar o conselho eficaz. preciso tambm compreender que a sua
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
433
composio deve ser heterognea, deve estimular o respeito diferena
e capacidade de construir adeses em torno de projetos especficos.
Quadro: Limites e possibilidades dos Conselhos como espao pblico
democrtico
Limites
Dificuldade de reverter a centralidade
e o protagonismo do Estado na
definio de polticas e prioridades
sociais.
A obrigatoriedade da paridade: a
i gual dade numri ca entre os
representantes da sociedade e do
governo no suficiente para garantir
o equilbrio das decises
H resistncia das organizaes sociais
em reconhecer as demais como
representaes legtimas.
Existncia de vnculo frgil entre os
representantes governamentais e os
rgos de ori gem. Geral mente
defendem suas opinies pessoais, e no
as posies discutidas com as suas
instituies.
Falta de capacidade dos conselheiros,
governamentais e no-governamentais,
para uma atuao mais ativa no dilogo
deliberativo.
Dificuldade de explicitao de
interesses, do reconhecimento da
existncia e legitimidade dos conflitos
e das trocas de idias como instrumento
Possibilidades
A existncia do Conselho j uma
importante vitria na luta pela
democratizao dos processos de
deciso. Desempenha uma funo
pedaggica, a reinveno de padres de
sociabilidade democrtica.
A busca pelo equilbrio deve ser
construda no cotidiano das prticas e
das articulaes dos conselhos, j que a
diversidade possibilita vrias interaes
e deliberaes.
A criao de redes de solidariedade e
mobilizao social em torno de temas
especficos deve intensificar os canais de
comunicao entre as organizaes.
Necessidade de publicidade das aes
por parte do Estado, bem como da
i ncorporao do pri nc pi o da
descentralizao.
preciso qualificar os movimentos e as
entidades, combinando contedos
tcnicos com polticos, visando o
enfrentamento da dificuldade cultural de
assumir uma negociao com o Estado,
que tambm precisa se capacitar e rever
suas prticas.
A presena de cmaras tcnicas cumpre
a funo de estudar/aprofundar temas
que vo legitimar as intervenes e
de tomada de deciso.
posies assumidas no Conselho.
Ana Paula Mendes de Miranda
434
O quadro acima apresenta uma srie de situaes comuns ao
funcionamento de um Conselho Comunitrio de Segurana, que tanto
podem ser interpretadas como um sinal de insucesso, quanto como
caractersticas do processo de interao democrtica entre agentes do
Estado e representantes da sociedade civil, numa situao de correlao
de foras desigual.
Reconhecer este fato fundamental apara compreender que uma
das maiores dificuldades das experincias participativas construir
mecanismos capazes de minorar os efeitos das desigualdades. Nos CCS a
intolerncia diferena uma questo freqente, seja como uma intolerncia
observada nos diferentes grupos da sociedade civil, seja nas representaes
recprocas das relaes entre a sociedade civil e as organizaes policiais,
ou mesmo das relaes entre as diferentes organizaes estatais.
No primeiro caso, observa-se que, em reas cuja presena
predominante de representantes das classes mdia e/ou alta, so comuns
Formular polticas pblicas significa
estabelecer as diretrizes norteadoras e
definir as prioridades a partir das
necessidades da populao.
A autonomia dos conselhos est
vi ncul ada sua capaci dade de
mobilizao.
preciso criar uma correlao de foras
favorvel no mbito da sociedade civil.
A pauta deve ser construda
coletivamente. As atas de reunio no
so meros procedimentos burocrticos,
mas um instrumento importante no
acompanhamento das decises e de
reconhecimento dos conselheiros a
respeito de suas aes.
O sucesso do conselho pode se dar no
controle social do Estado ou na eficiente
vocalizao das demandas aos rgos
pblicos.
As aes esto mais voltadas para sua
prpria estruturao do que para a
definio de diretrizes e a discusso de
polticas.
H grande recusa do Estado em
partilhar as decises.
Baixa capacidade de articulao,
presso e mobilizao dos setores
organizados da sociedade civil.
Tendncia de burocratizao e de se
transformar em instncias de projeo
de propostas particulares.
Dificuldade de alcanar a capacidade
deliberativa dos conselhos.
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
435
os comportamentos e discursos que visam ao isolamento e excluso dos
grupos mais pobres, com uma clara estigmatizao dos moradores de favela.
comum a demanda de que o policiamento seja direcionado a locais especficos
para atender a interesses particulares (meu prdio, meu negcio, minha
casa, minha rua). comum tambm o discurso: eu pago os meus impostos,
portanto o Estado tem a obrigao.... Essa postura revela uma representao
da cidadania no como processo de direitos e deveres, mas como uma via de
mo nica, na qual o cidado ao pagar os impostos teria todos os direitos
ilimitados, legitimando assim pedidos ilegais
29
. Nas reas onde h o
predomnio de moradores de favelas o problema outro: teme-se o abuso
de autoridade, o p na porta, discute-se tambm o fato de que o morador
que participa de um CCS pode ser considerado um informante da polcia,
um X-9, o que pe a sua vida em risco. Neste caso, h uma enorme
dificuldade em se perceber este espao como um local de demandas por
servios ou de reivindicaes de direitos.
No segundo caso, observa-se por parte dos representantes da
sociedade civil (independente da classe social) um discurso ambguo: ao mesmo
tempo em que se reclama que a polcia violenta e corrupta, solicitado que
os policiais ajam com pulso, que resolvam rapidamente os problemas,
pois este seria o nico servio disponvel para a soluo dos crimes e da
delinqncia. Por sua vez, a ambigidade tambm se faz presente no discurso
policial. H um grupo de policiais que realiza as reunies, mas desqualifica o
Conselho como um espao para resoluo de problemas, considerando-o
como mera fonte de contatos, um evento necessrio para ampliar o seu
conjunto de informantes, bem como para conhecer pessoas que podero
ajudar numa futura troca de favores. Um outro grupo simplesmente no
concorda com a idia e no realiza os encontros, ou s aceita fazer reunies
com grupos de representantes de prestgio poltico e/ou financeiro, explicitando
a idia de que esses espaos seriam uma estratgia de relaes pblicas para
a polcia. Uma pequena minoria compreende plenamente o significado do
Conselho, mas se v amarrada sem saber ao certo como implement-lo,
face aos diversos obstculos.
E, no terceiro caso, h a explicitao das rivalidades entre as foras
policiais estaduais (Polcia Militar e Polcia Civil), com o jogo de empurra
das atribuies. Quando por alguma razo (pessoal ou institucional), no
h este problema, comum que as hostilidades se voltem para as guardas
municipais, onde existem, ou ainda para o Judicirio, sendo comum tambm
Ana Paula Mendes de Miranda
436
que outros rgos pblicos se tornem o bode expiatrio na disputa pela
culpa de no resolver os problemas. Salienta-se que no se discute as
responsabilidades das instituies, o que seria absolutamente legtimo num
regime democrtico, mas a culpa, ou seja, a intencionalidade da no atuao
dos funcionrios. Por isso, muito comum o recurso aos argumentos da
falncia ou falta de recursos materiais do Estado, que ameniza a omisso
dos funcionrios.
Reconhecer que as relaes que se estabelecem entre os diferentes
grupos participantes dos conselhos so sempre tensas, permeadas por
conflitos, que crescem ou reduzem na medida em que as decises so
compartilhadas entre as partes envolvidas, fundamental para a construo
da democracia.
Esta constatao no uma obviedade porque comum as
representaes que concebem a sociedade civil como um plo de virtude
e os agentes do Estado como encarnao do mal. Esquece-se que ambos
podem oferecer resistncias ao processo de democratizao.
Os agentes do Estado podem manifestar concepes polticas
resistentes democratizao, pois podem defender posies tecno-
burocrticas; podem temer a instabilidade dos projetos e a falta de recursos;
podem agir sem transparncia, com lentido, ineficincia e burocratizao.
J os representantes da sociedade civil podem ter dificuldade de
conviver com uma multiplicidade de atores e de reconhec-los como
interlocutores legtimos; podem apresentar prticas autoritrias e
conservadoras; podem no ter qualificao (tcnica e poltica); podem
reproduzir o acesso privilegiado aos recursos do Estado; podem
prejudicar a rotatividade das representaes; podem prejudicar o trabalho
de mobilizao da populao; podem no ser representativos.
A constituio do CCS como um espao pblico pressupe que
estas contradies sejam confrontadas, para que a partilha efetiva do poder
represente a construo de uma cultura mais democrtica.
preciso entender, ainda, que os conflitos a serem enfrentados na
rea de segurana so de diversas ordens e que a explicitao dos mesmos
necessria para que no prevaleam solues simplistas e genricas.
Em toda e qualquer sociedade h coisas proibidas, portanto sempre
haver indivduos que rompero os padres estabelecidos. preciso que a
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
437
ao do Estado no esteja voltada apenas para este fato, mas sim que busque
administrar e reduzir o impacto das transgresses na vida social, que pode:
levar autodestruio daqueles que as cometem;
gerar violncia fsica, seja quem for o agente e o alvo;
afetar a ordem social e poltica.
certo que os Conselhos Comunitrios de Segurana no
resolvero todos estes problemas. Ento, ser possvel pens-los como
um espao que pode ajudar a reduzir a vulnerabilidade dos grupos que
dele participam? Para isso fundamental aumentar a sua capilaridade social,
sem a qual os conselhos so levados ao isolamento e debilidade.
A composio plural e heterognea, com representao da
sociedade civil e do governo em diferentes formatos, pode transformar
os conselhos em instncias de negociao de conflitos entre diferentes
grupos e interesses, ou seja, como um campo de disputas polticas, de
conceitos e processos, de significados e resultantes polticos. Os conselhos
podem funcionar como canais importantes de participao coletiva, se
possibilitarem a criao de uma cultura poltica de incluso, de relaes
polticas entre agentes do Estado e cidados, que introduzem lgicas
distintas de racionalidade coletiva e de garantia de direitos na formulao
e gesto das polticas pblicas.
Muitas dessas limitaes dos CCS esto relacionadas ao contexto
adverso em que diversos conselhos foram implantados no Brasil - de
esvaziamento das responsabilidades pblicas do Estado, de desqualificao
das instncias de representao coletivas, de fragmentao do espao
pblico e de despolitizao da poltica - processos que fragilizam a
capacidade de a sociedade civil exercer presso direta sobre os rumos da
ao estatal. Outras dificuldades decorrem da prpria lgica de
estruturao das polticas pblicas na sociedade e da natureza da
interveno estatal nesse campo.
A questo da fragmentao das polticas sociais tem sido um tema
recorrente, tanto nas anlises dos estudiosos quanto na prtica dos seus
operadores. As polticas sociais obedecem lgica da setorizao, que
recorta o social em partes estanques sem comunicao e articulao, torna
os problemas sociais autnomos em relao s causas estruturais que os
Ana Paula Mendes de Miranda
438
produzem, segmentando o atendimento das necessidades sociais. Em
conseqncia, traz srias dificuldades para a ao pblica dirigida
implementao de polticas redistributivas que tenham impacto na qualidade
de vida e no alargamento dos direitos de cidadania.
Todos esses elementos colocam em xeque a efetividade das polticas
pblicas e seus impactos na melhoria das condies de vida da populao.
Trata-se, no entanto, de um tema complexo que envolve, de um lado, os
determinantes polticos relacionados lgica de interveno do Estado
em uma dada ordenao societria com base em conjunturas especficas
e, por outro lado, o aparato institucional organizado para enfrent-las.
Como concluso, o que importa considerar que os conselhos
criados no mbito das polticas de segurana acompanham a lgica que
rege essas instituies, voltadas para aes especficas no seu campo de
interveno. E que, a maioria dos conselhos tem de enfrentar resistncias
do aparato governamental, para se instalar e obter reconhecimento como
espao institucional legtimo, e resistncias da sociedade civil, que no
compreende o significado do que ser cidado.
Contudo, a multiplicao acelerada dos conselhos, a dinmica prpria
de funcionamento de cada um e o envolvimento com pautas especficas
contribuem, mesmo que involuntariamente, para manter a fragmentao
e a segmentao das polticas pblicas, dificultando, em ltima instncia, o
enfrentamento da lgica que estrutura a ao estatal e a capacidade de
produzir respostas satisfatrias. nesse contexto que se impe a tarefa
de discutir como os CCS podem funcionar como mecanismos de
articulao entre os agentes pblicos e a sociedade no planejamento e
gesto das polticas, que assim, podero ser chamadas de polticas pblicas
de segurana.
Notas
1
Os movimentos sociais so aes sociais de carter scio-poltico e cultural, cujos processos
sociais criam identidades, revelando formas distintas de indivduos e grupos se organizar e
expressar suas demandas. Assim, indivduos que antes estavam dispersos e desorganizados ao se
integrarem a grupos para manifestar seus pleitos, passam a compartilhar um sentimento de
pertencimento social. Na prtica, observam-se diferentes estratgias que variam da denncia,
passando pela presso direta (mobilizaes, marchas, concentraes, etc.) at s presses
indiretas (lobby, promoo de aes judiciais, etc.). Na atualidade, observa-se a composio de
redes sociais, que podem ser locais, regionais, nacionais e internacionais, sendo comum a
utilizao dos meios de comunicao (Gohn, 2003).
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
439
2
O sujeito social entendido como o processo de disputas no espao poltico e social para
proteger a memria, a liberdade e a identidade cultural, que caracterizam os movimentos
sociais.
3
O conceito de classe social foi a base de mltiplas correntes e expresses da esquerda para
explicar os problemas e defender a organizao da classe operria na Amrica Latina. Olvera
(2006) destaca o modo pelo qual esta abordagem contribuiu para criar uma cultura poltica
autoritria, em funo do que considera uma idia leninista da centralidade dos partidos como
instncias dirigentes das organizaes sociais, bem como a transformao de algumas pautas
reivindicatrias em assuntos sem importncia, em especial, a demanda por direitos civis de
grupos minoritrios.
4
A sociedade civil pode ser representada por vrios tipos de movimentos sociais, setores da
sociedade com nveis de organizao mais frgeis (usurios de servios pblicos), partidos polticos,
universidades, ONG, igrejas, etc.
5
No Brasil, o final da dcada de 70 e parte dos anos 80 foram marcados por movimentos sociais
contra o regime militar, dos quais destaco os comits de anistia, as entidades de familiares dos
desaparecidos na ditadura, as Comisses de Justia e Paz, a Ordem dos Advogados do Brasil e a
Associao Brasileira de Imprensa. A partir de 1990, comearam a surgir outras formas de
organizao popular institucionalizadas, como fruns de luta pela moradia, pela reforma urbana.
Outros movimentos que surgiram foram os de mulheres, homossexuais, afro-brasileiros, jovens,
indgenas, funcionrios pblicos e ecologistas. Sobre a histria dos movimentos sociais, ver Gohn
(2004).
6
A influncia da Teologia da Libertao tambm foi observada no Peru, em El Salvador, na
Guatemala e na Nicargua.
7
Ver, entre outros, Alvarez et al (2000) Avritzer (1996); Dagnino, (2002); Olvera (1999) e
(2003).
8
O neoliberalismo econmico propaga a idia da mundializao das trocas, reforando a
supremacia do mercado, o que deixa o Estado em segundo plano. A globalizao dos mercados
de consumo traz vrias conseqncias: o fim de barreiras alfandegrias beneficia as grandes
potencias econmicas; a desregulamentao da legislao impe limites explorao capitalista,
coloca os trabalhadores numa situao de vulnerabilidade frente ao capital; a privatizao de
empresas estatais e a perda de mecanismos de controle da economia pelos estados nacionais; a
concentrao crescente de capital nas grandes multinacionais e a reduo do nmero de
trabalhadores regulamentados; a distribuio cada vez mais desigual e injusta das riquezas; o
avano crescente da tecnologia representa um aumento do desemprego e uma reduo dos
salrios (Santana & Ramalho, 2003).
9
Evelina Dagnino (2002) tem demonstrado em suas pesquisas que a sociedade civil est formada
por uma diversidade de atores, o que inclui os conservadores, com formatos distintos (sindicatos,
associaes, redes, etc.), e uma pluralidade de prticas e projetos polticos, com vrias formas de
relao com o Estado. Um bom exemplo de pesquisa sobre grupos conservadores pode ser visto em
Crapanzano (1985), retratando as representaes da minoria branca na frica do Sul.
10
Um marco para anlise do conceito de cidadania Marshall (1967), cujo significado est
vinculado diretamente ao estabelecimento de direitos, em especial, aos direitos civis, que
representavam a sua base formal. Sua abordagem rompeu com a noo clssica de cidadania
poltica, que dava destaque ao voto como elemento fundamental da participao dos indivduos
nos processos de poder. Posteriormente, Marshall foi criticado por Giddens (1982) por sua
abordagem evolutiva e homogeneizadora dos direitos. Tal crtica tambm foi feita por Evelina
Dagnino (2004), que ressalta como fato negativo a idia de um processo civilizatrio implcito ao
Ana Paula Mendes de Miranda
440
conceito de cidadania. Para superar este problema, a autora defende a necessidade de que
sejam contextualizadas as noes de direitos, da relao pblico/privado, de representao e de
sociedade civil. Isso necessrio para enfatizar a dimenso histrica e cultural da cidadania,
que definida por conflitos reais. Ver tambm Appadurai (1994).
11
Uma viso homognea e amorfa do terceiro setor contribui para difundir a idia dicotmica de
que este se constitui num plo de virtude, em oposio ao Estado, que um inimigo a ser
enfrentado. Para uma discusso sobre o papel do terceiro setor, ver Santos (2006).
12
Com relao ao meio ambiente, observa-se a maior diferena de abordagens entre os pases.
13
No caso dos feminismos, observa-se conflitos num campo plural que buscava transformar a
situao das mulheres na sociedade, relegadas ao espao familiar e excludas da vida pblica,
que tem sido marcada por um dilema, manter sua autonomia ou articular-se com o Estado. Ver
Bonacchi & Groppi (1995).
14
Em geral, as primeiras organizaes foram formadas por familiares e amigos de vtimas, como
algumas tinham vinculao com partidos polticos de esquerda e foram acusadas de subverso,
porque se opunham ao regime militar.
15
A teoria crtica representa um conjunto de teorias reflexivas que visam a emancipao e o
esclarecimento para enfrentar a cincia positivista. A teoria crtica estava preocupada com a
reforma social e poltica. Ver Lallement (2004).
16
A esfera pblica tomada como o universo discursivo onde normas, projetos e concepes de
mundo so publicizadas e esto sujeitas ao debate pblico la Habermas (Cardoso de Oliveira,
2002: 12).
17
O espao pblico pode ser entendido como o campo de relaes situadas fora do contexto
domstico ou da intimidade onde as interaes sociais efetivamente tm lugar (Cardoso de
Oliveira, 2002, p. 12), ou ainda como o espao fsico de propriedade do Estado a ser utilizado
pela coletividade (Kant de Lima, 2001:106).
18
Sobre o conceito jurdico de igualdade ver tambm Amorim et al (2005).
19
No caso brasileiro, as relaes sociais expressam uma grande confuso entre direitos e privilgios.
Ver Kant de Lima (2004).
20
A anlise de polticas pblicas deve buscar explicar quando e porque elas se modificam, bem
como compreender como uma deciso poltica modifica o ambiente. Ver Santos (1994).
21
Alexis de Tocqueville e Robert Putnam, apud Kerstenetzky (2003).
22
Santos Junior, Ribeiro & Azevedo (2004); Silva (2005).
23
Assumi a direo do Instituto de Segurana Pblica em 2004, quando comeou este projeto,
que contou com a participao de policiais (tenente coronel da Polcia Militar Robson Silva;
tenente coronel da Polcia Militar Paulo Augusto de Souza Teixeira; major da Polcia Militar
Alexandre Campos), de cientistas sociais (Marcella Beraldo de Oliveira, Mestre em Antropologia;
Fbio Reis Motta, Mestre em Antropologia) e de bacharel em direito (Marcus Vinicius da Paixo
Veloso), alm de estagirias de direito, cincias sociais, histria e comunicao social (Marianne
Ximenes Apoliano, Isabella Trindade Menezes, Juliana Lopes Latini, Marina Schneider, Marcelle
Rodrigues Ribas, Marcella de Mello Morais de Souza, Bianca Soares Carl).
24
A reestruturao foi feita a partir de um diagnstico dos problemas dos Conselhos Comunitrios
de Segurana e da realizao de dois Fruns, onde foram discutidos os seguintes pontos:
necessidade de mobilizao das comunidades; divulgao ampla e rodzio das reunies;
institucionalizao dos Conselhos; maior participao de autoridades de rgos municipais e
estaduais nas reunies; intercmbio e integrao entre os Conselhos; organizao de pautas e
estabelecimento de calendrios fixos para as reunies. Ver Resoluo SSP n 781, de 08 de agosto
de 2005 e Teixeira (2006).
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
441
25
No Rio de Janeiro tambm existe o Caf Comunitrio, que foi criado oficialmente em 19 de
maio de 2003, pela Resoluo da Secretaria de Segurana Pblica no. 629. Funciona como um
encontro menos formalizado entre a polcia e a sociedade, cuja organizao cabe polcia
militar, possuindo formatos mais flexveis com objetivos, funes e procedimentos variveis e
permeveis s correlaes de foras vigentes em cada caso, principalmente no que se refere aos
atores envolvidos. A informalidade do encontro dificulta a participao dos agentes do Estado,
que no sejam policiais (diferentes nveis do Executivo, o Legislativo e as agncias estatais
especficas), que no se vem obrigados a participar. Com relao dificuldades de participao
da sociedade civil, geralmente seus representantes alegam no se sentir vontade de entrar em
unidades das polcias.
26
Com relao aos integrantes dos conselhos, com exceo dos membros do Conselho Tutelar, a
funo de conselheiro no deve ser remunerada por ser definida como atividade de relevncia
pblica. Este ponto altamente polmico entre os conselheiros, j que os mais pobres afirmam
no poder arcar com as despesas de locomoo e alimentao.
27
Por isso no pode ser chamado de conselho popular. preciso distinguir tambm o conselho
comunitrio do conselho de notveis, que se caracteriza pela presena exclusiva de especialistas,
como o caso do Conselho Nacional de Justia.
28
Galdeano (2007); Hussein (2007); Sento S (2005); Silva (2005).
29
comum que seja solicitada a retirada definitiva de mendigos e meninos de rua das vias
pblicas, prises ilegais ou ainda o extermnio desses grupos.
Referncias Bibliogrficas
ALVAREZ, Sonia; DAGNINO, Evelina & ESCOBAR, Arturo (org.). Cultura e poltica nos movimentos
sociais latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte: UFMG, 2000.
APPADURAI, Arjun. Disjuno e diferena na economia cultural global. FEATHERSTONE, Mike
(coord.). Cultura Global: Nacionalismo, globalizao e modernidade. Petroplis: Vozes, 1994.
AMORIM, Maria Stella; KANT DE LIMA, Roberto & MENDES, Regina Lcia Teixeira. Ensaios sobre
a Igualdade Jurdica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
ARENDT, Hannah. Crises da Repblica. 2 ed. So Paulo: Perspectiva, 1999.
AVRITZER, Leonardo & COSTA, Srgio. Teoria Crtica, Democracia e Esfera Pblica: Concepes e Usos
na Amrica Latina. DADOS Revista de Cincias Sociais, Rio de Janeiro, 47, 4, 2004, p. 703-728.
AVRITZER, Leonardo. A Moralidade da Democracia. So Paulo/Belo Horizonte, Perspectiva/Editora
da UFMG, 1996.
BONACCHI, Gabriella & GROPPI, ngela (org.) O dilema da cidadania: direitos e deveres das
mulheres. So Paulo: UNESP, 1995.
CARDOSO, Ruth. A trajetria dos movimentos sociais. In: DAGNINO, Evelina (org). Anos 90: poltica
e sociedade no Brasil. 4 ed. So Paulo: Brasiliense, 2004.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Luis Roberto. Racismo, direitos e cidadania. Estudos Avanados, So Paulo,
18, 50, 2004, p. 81-93.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Luis Roberto. Direito legal e insulto moral Dilemas da cidadania no
Brasil, Quebec e EUA. Rio de Janeiro, Relume Dumar, 2002.
CARVALHO, Jos Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2003.
Ana Paula Mendes de Miranda
442
CEFA, Daniel. Quest-ce quune arne publique? Quelques pistes pour une approche prgamatiste.
CEFA, D. & JOSEPH, I. (org.) LHeritage du prgamatisme: conflits durbanit et preuves de
civisme. Coloque de Cerisy, Editions de L Aube, 2002.
CRAPANZANO, Vincent. Waiting: the Whites of South Africa. New York: Random House, 1985.
DAGNINO, Evelina (org). Anos 90: poltica e sociedade no Brasil. 4 ed. So Paulo: Brasiliense, 2004.
DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade civil e espaos pblicos no Brasil. So Paulo: Paz e Terra, 2002.
GADEA, Carlos & SCHERER-WARREN, Ilse. A contribuio de Alain Touraine para o debate sobre
sujeito e democracia latino-americanos. Revista Sociologia e Poltica, Curitiba, 25, nov. 2005, p.39-
45.
GALDEANO, Ana Paula. Representaes da violncia e da segurana pblica em So Paulo: o que
pensam, querem e fazem os participantes de Conselhos Locais de Segurana. VII Reunio de
Antropologia do Mercosul, Porto Alegre/RS, 23-27 julho 2007.
GIDDENS, Anthony. Profiles and critiques in social theory. London: Macmillan, 1982.
GOHN, Maria da Glria. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clssicos e contemporneos.
So Paulo: Loyola, 2004.
GOHN, Maria da Glria. (org). Movimentos Sociais no Incio do Sculo XXI. Petrpolis: Vozes,
2003.
GOHN, Maria da Glria. O papel dos conselhos gestores na gesto urbana. In: Repensando a
Experincia Urbana da Amrica Latina: Questes, Conceitos e Valores. Buenos Aires: Clacso,
2000.
GRAMSCI, Antonio & BORDIGA, Amadeo. Conselhos de Fbrica. So Paulo: Brasiliense, 1981.
HABERMAS, Jrgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro, 1997.
HABERMAS, Jrgen. Mudana estrutural da esfera pblica. Investigaes quanto a uma categoria
da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,1984.
HUSSEIM, Saima. In war, those who die are not innocent: human rights implementation, policing
and public security reform in Rio de Janeiro, Brazil. Amsterdam: Rozemberg, 2007.
KANT DE LIMA, Roberto. Direitos Civis e Direitos Humanos: uma tradio judiciria pr-republicana?
So Paulo em Perspectiva, So Paulo, SP, v. 18, p. 49-59, 2004.
KANT DE LIMA, Roberto. Carnavais, malandros e heris: o dilema brasileiro no espao pblico.
GOMES, Laura Graziela; BARBOSA, Lvia & DRUMMOND, Jos Augusto. Carnavais, malandros e
heris, 20 anos depois. 2 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2001.
KANT DE LIMA, Roberto. Polcia e excluso na cultura judiciria. Revista de Sociologia da USP, So
Paulo, v.9, n.1 p. 169-183, maio 1997.
KANT DE LIMA, Roberto. A Polcia da Cidade do Rio de Janeiro: Seus Dilemas e Paradoxos. (2
ed.). Rio de Janeiro, Forense, 1995.
KERSTENETZKY, Celia Lessa. Sobre associativismo, desigualdades e democracia. Revista Brasileira
de Cincias Sociais, vol. 18, n. 53, out. 2003, p.131-180.
LALLEMENT, Michel. Histria das idias sociolgicas: de Parsons aos contemporneos. Petrpolis:
Vozes, 2004.
MARSHALL, T. H. (1967) Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar.
MIRANDA, Ana Paula Mendes de. Arquivo pblico: um segredo bem guardado. Antropoltica, v.17,
A Busca por Direitos: Possibilidades e Limites da
Participao Social na Democratizao do Estado
443
p.123 - 149, 2005.
MIRANDA, Ana Paula Mendes de. Cartrios: onde a tradio tem registro pblico. Antropoltica, v.8,
p.59 - 75, 2000.
MOUFFE, Chantal (org.) Dimensions of radical democracy. London: Verso, 1992.
PERALVA, Angelina. Violencia e democracia: o paradoxo brasileiro. So Paulo: Paz e Terra, 2000.
OLVERA, Alberto J. La heterogeneidad de la sociedad civil y del Estado en America Latina y sus
efectos sobre la innovacin democrtica. III Congreso de la Asociacin Latinoamericana de Ciencia
Poltica, Campinas / SP, 4-6 setembro 2006.
OLVERA, Alberto J. (org.). Sociedad Civil, Esfera Pblica y Democratizacin en Amrica Latina:
Mxico. Mxico, Xalapa: Fondo de Cultura Econmica/Universidad Veracruzana, 2003.
OLVERA, Alberto J. Sociedade civil e governabilidade no Mxico. DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade
civil e espaos pblicos no Brasil. So Paulo: Paz e Terra, 2002.
OLVERA, Alberto J. Los Modos de Recuperacin Contempornea de la Idea de
Sociedad Civil. Olvera, A.J. (org.) La Sociedad Civil. De la Teora a la Realidad. Mxico:
El Colegio de Mxico, 1999.
PANFICHI, Aldo & CHIRINOS, Paula Valeria Muoz. Sociedade civil e governabilidade democrtica
nos Andes e no Cone Sul: uma viso panormica na entrada do sculo XXI. DAGNINO, Evelina (org.).
Sociedade civil e espaos pblicos no Brasil. So Paulo: Paz e Terra, 2002.
SANTANA, Marco Aurlio & RAMALHO, Jos Ricardo (org). Alm da fbrica: trabalhadores, sindicatos
e a nova questo social. So Paulo: Boitempo, 2003.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramtica do tempo: para uma nova cultura poltica. So Paulo:
Cortez, 2006.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Os novos movimentos sociais. Leher, Roberto & Setbal, Mariana.
Pensamento crtico e movimentos sociais. So Paulo: Cortez, 2005.
SANTOS JUNIOR, Orlando A.; RIBEIRO, Luiz Cesar de Q. & AZEVEDO, Sergio (orgs.). Governana
democrtica e poder local: a experincia dos conselhos municipais no Brasil. Rio de Janeiro:
Revan, 2004.
SANTOS, Wanderley Guilherme. Cidadania e Justia: A poltica social na ordem brasileira. 3ed. Rio
de Janeiro: Campus, 1994.
SENTO-S, Joo Trajano & FERNANDES, Otair. A criao do Conselho Comunitrio em Segurana de
So Gonalo. SENTO-S, Joo Trajano (org.) Preveno da violncia: o papel das cidades. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005. (Segurana e cidadania, 3).
SILVA, Carla Eichler de Almeida. Participao democrtica em nvel local: a experincia dos
conselhos comunitrios de segurana pblica. Dissertao de Mestrado em Cincia Poltica,
Universidade Federal Fluminense, Niteri, 2005.
TATAGIBA, Luciana. Os conselhos gestores e a democratizao das polticas pblicas no Brasil.
DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade civil e espaos pblicos no Brasil. So Paulo: Paz e Terra, 2002.
TEIXEIRA, Paulo Augusto Souza. Guia prtico para participantes dos conselhos comunitrios de
segurana. Rio de Janeiro: Instituto de Segurana Pblica, 2006. (Srie Conselhos Comunitrios de
Segurana, vol. 2).
VELHO, Gilberto. A democracia no prescinde da cidadania cultural In: O Encontro: um olhar
sobre a cultura, o cidado e a empresa. Rio de Janeiro: Ayuri Editorial/SENAI, 1995.
Ana Paula Mendes de Miranda
444
C
H
I
L
E
Comunicao
RELAO POLCIA-COMUNIDADE
ANLISE DA EXPERINCIA DO PLANO QUADRANTE NO CHILE
Javiera Diaz
*
No Chile no existe um programa de polcia comunitria. No entanto,
nos ltimos anos, Carabineros do Chile levaram a cabo esforos dirigidos a
estabelecer uma poltica institucional que incorporasse um trabalho
coordenado e orientado para a comunidade. Neste marco, a estratgia
emblemtica o Plano Quadrante de Segurana Preventiva, que
implementado atualmente em 71 municpios
1
do pas. No entanto, em vrios
territrios no se obteve xito em uma implementao completa e,
adicionalmente, a forma de aplicao tem sido diversa em cada um dos
contextos.
Lamentavelmente, a inexistncia de avaliaes e monitoramento do
plano impede fazer uma leitura de seus resultados e impactos. Entretanto,
relevante revisar alguns antecedentes gerais de sua implementao, dados
extrados a partir da aplicao de questionrios cidados a respeito do
trabalho policial comunitrio e um caso de aplicao do plano que nos
permita realizar uma leitura mais profunda do mesmo, como tambm
visualizar suas foras e debilidades.
O objetivo desta comunicao apresentar brevemente a
experincia do Plano Quadrante e propiciar um debate a respeito de seus
objetivos, metodologia e implementao que permita refletir a outras
instituies policiais da Amrica Latina sobre o papel policial na comunidade
e com a comunidade.
ANTECEDENTES
A partir da dcada de 80, na Amrica Latina, iniciou-se um debate
sobre o papel da polcia e da comunidade na preveno da criminalidade.
O retorno democracia em grande parte dos pases do Cone Sul, entre
eles Chile, Brasil e Argentina, manifestou a necessidade de implementar
mudanas nas polcias (Dammert, 2003; Frhling, 2001a; Gonzlez, 1998;
Oliveira y Tiscornia, 1998). As necessidades de reformas se relacionavam
principalmente com a evidncia de aes corruptas e violentas de membros
da instituio policial (Dammer, 2003), e uma crescente desconfiana de
*
Pesquisadora FLACSO-Chile, licenciada em psicologia e mestre em criminologia crtica, preveno
e segurana social da Universidade de Pdua Itlia.
parte da populao com a ao policial.
445
Por outro lado, a mudana de nfase da segurana nacional
segurana interna, e o aumento da sensao de insegurana da populao
gerou uma reflexo, que se mantm na atualidade, sobre a necessidade de
aumentar a eficincia policial.
Diante das novas demandas, tanto no nvel do Estado como no da
cidadania, as instituies policiais justificaram a impossibilidade de realizar
mudanas, principalmente devido carncia de infraestrutura e pessoal
necessrios para controlar a criminalidade e a violncia (Dammert, 2003).
No obstante, se constatou um forte aumento no oramento das polcias
no continente, e, no caso do Chile, isto particularmente evidente ao
observar-se o aumento experimentado pelo oramento dos Carabineros
de Chile (Ver Grfico 1).
Grfico 1. Oramento de Carabineros de Chile 1990-2006 (moeda
nacional)
Fonte: Subsecretaria de Carabineros de Chile, 2006
relevante destacar que nos anos 90 se constatou uma forte falta
de infra-estrutura, dotao e equipamento que justificavam em grande
medida os investimentos realizados.
O grfico anterior nos mostra que em um perodo de 16 anos, o
oramento dos Carabineros aumentou em 186%, chegando a alcanar os
321 milhes de pesos (US$ 625 milhes) em 2006.
Este aumento oramentrio se traduziu, por sua vez, em um
Javiera Diaz
446
aumento na dotao (aumento de pessoal de 31% entre 1989 e 2006) e
em investimento na infra-estrutura.
Grfico 2. Evoluo do pessoal efetivo dos Carabineros de Chile
1989-2006
Fonte: Subsecretaria de Carabineros de Chile, 2006
Grfico 3. Aumento da frota veicular em nvel nacional dos
Carabineros 2000-2006
Fonte: Subsecretaria de Carabineros de Chile, 2006
DESCRIO DO PLANO QUADRANTE
Carabineros do Chile puseram em marcha no ano 2000 um
programa orientado a melhorar a relao entre polcia e comunidade
denominado Plano Quadrante de Segurana Preventiva, o qual se
Relao Polcia-Comunidade: Anlise da experincia do Plano Quadrante
447
circunscreve em todo um processo de mudana e modernizao
institucional iniciado na dcada de 90. Esta iniciativa teve como objetivo
fundamental fortalecer os laos de confiana com a populao, atravs de
um programa de vigilncia orientado soluo e preveno dos problemas
de uma determinada comunidade.
Para tal efeito, o territrio jurisdicional de cada Comisaria
2
se
subdividiu em setores chamados quadrantes, que corresponde ao
territrio de vigilncia de um contingente especfico de policiais. Um
quadrante compreende aproximadamente 1 quilmetro quadrado,
equivalente a 64 quarteires e cerca de 12 mil pessoas. Cabe assinalar
que esta delimitao no arbitrria, sendo que est fixada de acordo
com variveis qualitativas e quantitativas. As variveis quantitativas fazem
referncia ao desenho urbano da zona, quer dizer, extenso e
caractersticas do territrio e quantidade de pessoas residentes. No
entanto, as variveis qualitativas se referem a caractersticas como o tipo
de populao que ali habita, atividades que realizam, se uma zona
residencial ou comercial, se existem lugares arriscados e o tipo de delitos
que com maior freqncia ocorrem neste lugar.
Cada quadrante est sob a responsabilidade de um delegado e trs
subdelegados, cuja funo atender s solicitaes da populao e receber
as denncias. Mas a estas funes se agrega uma com caractersticas
inovadoras com respeito tradicional tarefa da polcia: os encarregados
tambm devem participar de reunies sobre segurana cidad e receber
capacitao em atividades comunitrias e atendimento do pblico.
Quanto destinao de recursos materiais, a mesma tambm est
relacionada com as caractersticas dos quadrantes, segundo as quais se
determina o tipo de vigilncia: motorizada, em veculo ou a p.
Para uma eficiente distribuio dos recursos, tanto humanos como
materiais, se classificam os quadrantes de acordo com nveis relacionados
a um cenrio especfico de delinqncia, tipo e graduao da mesma. Os
nveis determinados so:
nvel 1: freqncia delitiva baixa;
nvel 2: freqncia delitiva intermediria;
nvel 3: freqncia mdia;
nvel 4: freqncia alta
Javiera Diaz
448
Deste modo, de acordo com o nvel em que se classifica o quadrante,
so destinados as chamadas Unidades de Vigilncia Equivalentes (U.V.E.),
as quais expressam um valor que determina o tipo de recurso, ou seja,
quanto maior seja o nvel de freqncia de delitos em um quadrante, maior
a quantidade de U.V.E. que se lhe destinam. Este sistema objetiva no s
melhorar a eficincia na destinao dos recursos de Carabineros em uma
grande zona urbana compreendida por muitos quadrantes, mas tambm
a flexibilidade no uso de recursos, posto que um quadrante pode
reclassificar-se em outro nvel, conforme mudem suas caractersticas.
comum a todos os quadrantes a durao do servio, que consiste
em trs turnos de oito horas, a quais seis horas correspondem ao
deslocamento em patrulhas e duas horas de planto na sede. Entretanto, a
freqncia das rondas tambm determinada pelo nvel ao qual pertence o
quadrante.
Os objetivos especficos do plano so:
potencializar a vigilncia policial preventiva, em termos de
uma maior e progressiva destinao de recursos humanos e
logsticos, com os meios disponveis e com aqueles adicionais
que de forma paulatina se incorporem instituio;
dinamizar a gesto operacional para dar resposta oportuna
e eficaz s demandas da comunidade;
dispor e empregar os meios institucionais, traduzidos em
Unidade de Vigilncia Equivalentes, em harmonia com o
perfil de cada quadrante. Isso significa readequar os meios
e aumentar a cobertura da vigilncia policial preventiva,
conforme o nvel de risco assinalado.
melhorar a gesto preventiva de cada quadrante, uma vez
que existindo um carabinero responsvel pelo mesmo, este
obtenha uma progressiva identificao com os vizinhos e a
zona a seu encargo.
Fazer com que a comunidade reconhea a seus
carabineros, sentindo-os comprometidos, acessveis,
francos e profissionais no exerccio das funes
encomendadas
Adicionalmente, o Plano Quadrante implicou a destinao de
recursos especficos para sua implementao a partir do ano 1999, tal
como se expressa a seguir.
Relao Polcia-Comunidade: Anlise da experincia do Plano Quadrante
449
Grfico 4. Investimentos no Plano Quadrante, 1999-2006
Fonte: Subsecretaria de Carabineros de Chile, 2006
PLANO QUADRANTE E A COMUNIDADE
Alguns dados sistematizados pela Encuesta Nacional de Seguridad
Ciudadana (ENSC)
3
dos anos 2003-2005 nos permitem ter uma
perspectiva preliminar do impacto que este teve na comunidade, atravs
da analise de alguns indicadores que se descrevem a seguir.
1. Conhecimento do Plano
Como antecedente analise deste indicador temos que Carabineros
do Chile, desde o comeo do programa, investiu recursos na difuso do
mesmo. Por outro lado, grande parte dos municpios nos quais se aplica,
contribuiu com a difuso do plano com campanhas conjuntas e recursos
para a gerao de panfletos informativos e outros materiais entregues
comunidade.
Neste sentido, um componente fundamental do Plano Quadrante
foi o comunicacional, pois s atravs da difuso possvel envolver a
comunidade no trabalho preventivo realizado pela polcia.
Contudo, segundo os resultados das ENSC, ainda existe uma
importante porcentagem de pessoas que desconhece o programa e seus
objetivos, apesar de que nos dois anos de aplicao do questionrio, esta
porcentagem diminuiu.
Javiera Diaz
450
Grfico 5. Sabe no que consiste o Plano Quadrante?
Fonte: Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana 2003 y 2005
2. Funcionamento do Plano Quadrante em nvel local
Outro indicador interessante de se analisar, ainda mais decisivo
a respeito das capacidades de difuso, o conhecimento que as
pessoas tm sobre a apl i cao do pl ano em seu bai rro. O
conhecimento do plano poderia estar influenciado pela proximidade
com o mesmo e por seu efetivo funcionamento em determinados
territrios.
Grfico 6. Sabe se o Plano Quadrante aplicado em seu bairro?
Fonte: Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana 2003 y 2005
Relao Polcia-Comunidade: Anlise da experincia do Plano Quadrante
451
Apesar do referido anteriormente, s 31% dos entrevistados sabia
em 2005 se o Plano Quadrante se aplicava em seu bairro, porcentagem
bem menor a 54% que sabia em que o plano consistia, no mesmo ano.
Similar a porcentagem de pessoas que sabe da existncia do
delegado de quadrante, como se pode observar no grfico 7.
Grfico 7. Sabe se em seu bairro existe um delegado?
Fonte: ENSS 2003 y 2005
3. Aprovao da vigilncia implementada pelo plano
O programa contempla como de uma de suas principais medidas
intensificar a vigilncia policial, atravs de rondas peridicas, no
territrio designado, as quais, embora tenham se pensado no comeo
como uma patrulha a p, na prtica so em sua maioria patrulhas
motorizadas e em veculo.
Embora este fato pudesse ser avaliado como uma debilidade do
pl ano, poi s no se conseguiria uma efeti va proxi mi dade com a
comunidade, os resultados lanados pelos questionrios de segurana
cidad indicam que as pessoas preferem o policiamento motorizado,
a viatura e inclusive o helicptero, pois lhes transmite maior sensao
de segurana que as rondas a p dos policiais.
Javiera Diaz
452
Grfico 8. Que tipo de vigilncia policial lhe d maior sensao de
segurana?
Fonte: Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana 2003 y 2005
4. Avaliao do trabalho com a comunidade
Segundo um questionrio realizado pela prpria instituio no ano
de 2003, em relao a 30 tarefas realizadas pela polcia, o trabalho
comunitrio de Carabineros no foi bem avaliado pelos cidados (20%
lhe deu uma avaliao negativa). Uma situao mais negativa se apresentou
em relao ao trabalho policial com vizinhos, o qual teve 39% de
reprovao.
O CASO DA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA
4
A comuna (municpio) de Pedro Aguirre Cerda, localizada no setor sul
da Regio Metropolitana, utilizou de maneira muito criativa a metodologia do
Plano Quadrante, incorporando-a ao trabalho municipal no marco do Programa
Comunidade Segura
5
. Esta iniciativa apresentou desafios importantes ao
trabalho policial e da prpria comunidade que at agora tm sido assumido
com xito e tomados como referncia para reformas ao trabalho no marco
do Programa Comunidade Segura
O contexto desta iniciativa uma mudana na forma de execuo e
distribuio oramentria do Comunidade Segura, que passou a ser um
programa que distribua 90% de seus recursos atravs de fundos concusables
com a comunidade, a ser executado em 90% pelo Conselho Municipal de
Relao Polcia-Comunidade: Anlise da experincia do Plano Quadrante
453
Segurana Cidad
6
. Isto implicou em que as decises de destinao dos fundos
passassem por uma institucionalidade presidida pelo prefeito, mas composta
por membros e representantes da comunidade. Apesar de esta mudana
buscar assegurar o bom uso dos fundos, em benefcio de toda a comunidade,
e no s de grupos especficos, no podia ser assegurada apenas pelo fato de
convidar os representantes da comunidade ao conselho; deveria gerar-se
uma instncia anterior ao conselho que assegurasse a legitimidade dos
representantes.
Para alcanar o objetivo referido, a equipe do programa Comunidade
Segura do municpio gerou uma estratgia utilizando a metodologia de redes
abertas, que, por sua vez tomava a metodologia de Carabineros em relao
diviso territorial da comuna em quadrantes (quatro quadrantes). Esta diviso
tinha por objetivo organizar a comunidade em relao ao pertencimento a
um territrio e envolver policiais no trabalho comunitrio, na identificao de
problemticas e de projetos de preveno psico-social e situacional para cada
quadrante, os quais poderiam ser levados ao Conselho Local e financiados
pelo Comunidade Segura.
O funcionamento real da estratgia se traduziu em reunies mensais
com todas as organizaes sociais do territrio. Embora no incio os Carabineros
no participassem (s assistiam esporadicamente e se enviava um policial
diferente a cada reunio), se conseguiu somar a instituio ao projeto como
convocante das reunies, com assistncia permanente junto com a unidade
preventiva do municpio (Programa Previene
7
e Comunidade Segura).
Assim, cada quadrante tem seu prprio representante no conselho,
legitimando-se como territrio organizado e interinstitucional.
Finalmente, para fazer operacional a participao dos representantes
do quadrante no conselho, se desenhou um instrumento de priorizao de
projetos para cada quadrante, pelo qual se trabalha com mapas geo-
referenciados de delitos proporcionados por Carabineros. O resultado da
priorizao deve ser legitimado pelas organizaes sociais do territrio e
logo a Secplan transforma as iniciativas propostas em projetos viveis.
Os principais xitos desta iniciativa tm sido a gerao de um vnculo
comunitrio com organizaes sociais, um forte vnculo institucional com as
polcias e um intercmbio de apoio social entre o municpio, as organizaes
sociais e as polcias.
Javiera Diaz
454
ELEMENTOS CRTICOS PARA O DEBATE
1. Desenho e objetivos: O desenho do plano est centrado no melhoramento
do trabalho policial com base nos recursos disponveis, embora no se observe
uma planificao do trabalho e priorizao de aes em relao s realidades
de cada territrio, o que impediu, por sua vez, gerar metodologias ou modelos
de avaliao do processo, resultado e impacto.
Isto, por sua vez, tem incidncia na designao e uso de recursos,
pois, ao no haver delineamentos claros dos objetivos especficos de cada
plano, no possvel realizar uma distribuio conforme os recursos.
Perguntas para o debate
Que elementos deveriam estar na base do desenho de um plano
de trabalho policial comunitrio e participativo?
Que tipos de objetivos deveria pleitear um plano de trabalho
policial comunitrio e como podem ser constatados, medidos e avaliados?
Quem deve realizar o monitoramento e a avaliao?
2- Metodologia: O patrulhamento no necessariamente uma metodologia
de trabalho para a aproximao com a comunidade, sendo melhor definida
como uma atividade que intenta obter certos resultados, como por exemplo,
a deteno por flagrante. Nesse sentido, seria importante incorporar um
conjunto de ferramentas metodolgicas aplicveis no plano, com seus
respectivos objetivos, atividades e indicadores, os quais poderiam ser
aplicados e adaptados a diferentes contextos locais.
Perguntas para o debate
Qual a diferena entre objetivos, estratgias, ferramentas de
trabalho, atividades e indicadores?
Os objetivos da polcia so os mesmos objetivos da comunidade,
da poltica de segurana local ou central?
Como se integram estes diferentes nveis em um plano gerido
pela instituio policial?
3. Capacitao: O plano no define claramente o que implica uma
Relao Polcia-Comunidade: Anlise da experincia do Plano Quadrante
455
aproximao com a comunidade e um trabalho em conjunto com os
cidados na preveno do delito, o que na prtica tem implicado em que
isto se entenda gerar atividades recreativas, desportivas, assistir a reunies
com vizinhos, convidar s crianas a conhecer as dependncias policiais,
entre outras muitas atividades que, apesar de contribuir a melhora para a
relao polcia-comunidade, no necessariamente apontam para gerar
modelos participativos e preventivos conjuntos. Esta falncia est
determinada, em grande medida, pela falta de preparao na temtica
comunitria, na ausncia de um enfoque definido que novamente diferencia
o enfoque dos objetivos e atividades que permitam concretiz-los.
Perguntas para o debate
necessrio capacitar as polcias para o trabalho com a comunidade?
Todas as experincias e atividades servem?
Como se poderiam avaliar os distintos efeitos das aes?
Que aes poderiam ter mais xito e por qu?
4. Retroalimentao da comunidade: O plano, ao no ter sido avaliado,
carece de elementos que lhe permitam melhorar certos aspectos e
potencializar outros. Para isto fundamental conhecer a opinio e avaliao
que realiza a comunidade envolvida no plano, no s a partir de questionrios
nacionais, mas tambm atravs de dilogos locais que permitam aprofundar
na realidade local.
Perguntas para o debate
possvel instalar um dispositivo de monitoramento permanente,
por parte da comunidade, implementao de um programa?
Como se pode envolver a comunidade de forma pr-ativa e no
s demandante junto s polcias?
5. Plano como parte de uma poltica local em diferentes nveis: O
Plano Quadrante, apesar de ter sido incorporado na poltica nacional de
segurana cidad, tem independncia em relao a outros programas das
autoridades locais e regionais. Este pode ser um elemento positivo,
enquanto outorga autonomia nas aes; porm, perde fora ao no se
integrar com outras estratgias desenvolvidas no mbito local.
Javiera Diaz
456
Perguntas para o debate
- Quais so os benefcios concretos que proporciona a coordenao
interinstitucional nos planos executados pelas polcias?
- possvel integrar os planos e estratgias a objetivos transversais
em nvel local, regional ou nacional?
Notas
1
NT: os municpios, no Chile, so denominados por Comuna. Logo, quando pertinente, utilizaremos
esta designao, particularmente quando o contexto fizer meno ao termo comunidade.
2
NT: Uma Comisara se distingue por servir de sede a uma polcia que se ocupa de atividades
investigativas ostensivas, na maioria dos pases do Cone Sul. No Brasil, diferentemente, as
delegacias de polcia civil abrigam profissionais que se ocupam das investigaes criminais,
enquanto os batalhes de Polcia Militar so sedes dos profissionais que cuidam do policiamento
preventivo e ostensivo. Por isso, a categoria foi mantida no original.
3
NT: Questionrio Nacional de Segurana Cidad.
4
Este captulo foi redigido com base nas informaes proporcionadas pelo Secretrio Tcnico do
municpio, Abraham Abugattas.
5
Programa preventivo pertencente ao Ministrio do Interior e aplicado em diversos municpios do
pas que apresentam problemas de criminalidade importantes. Sua execuo coordenada em
nvel local pelo municpio.
6
Composto por autoridades municipais, policiais, representantes da sociedade civil e do mundo
privado, entre outros.
7
Programa de preveno do consumo de drogas do Conselho Nacional de Controle de
Entorpecentes (Conace), implementado no nvel municipal.
Referncias Bibliogrficas
Dammert, Lucia (2003). El gobierno de la seguridad en Chile 1973-2003. In: Dammert, (org)
Seguridad ciudadana: experiencias y desafos. Red 14 URB-AL, Valparaso, Chile
Frhling, Hugo (2001) Las estrategias policiales frente a la inseguridad ciudadana en Chile. In:
Frhling, Hugo y Candina, Azun (org) Polica, Sociedad y Estado. Modernizacin y reforma
policial en Amrica del Sur. CED, Santiago
Ministerio del Interior Chile (2006). Informe anual de estadsticas nacionales y regionales. In:
www.interior.cl
Carabineros de Chile (2006). Sitio web: www.carabineros.cl
Relao Polcia-Comunidade: Anlise da experincia do Plano Quadrante
457
B
R
A
S
I
L
Comunicao
GRUPO ESPECIALIZADO EM REAS DE RISCO (GEPAR)
OS DILEMAS DE UMA EXPERINCIA INOVADORA DE PREVENO
E CONTROLE DE TRFICO DE DROGAS E HOMICDIOS EM
FAVELAS VIOLENTAS EM BELO HORIZONTE, BRASIL.
Elenice de Souza
*
INTRODUO
Uma das inovaes da Polcia Militar de Minas Gerais a criao do
Grupo Especializado de Policiamento em reas de Risco, o Gepar especfico
das unidades com responsabilidade territorial, as companhias de Polcia Militar.
Esse grupo, criado em 2005, foi implementado para atuar preventivamente
em favelas da cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais,
onde o trfico de drogas e o crime de homicdios foram identificados como
sendo problemas crnicos. Atualmente o Gepar tem sido criado tambm
nas demais favelas da regio metropolitana e em todo o estado de Minas
Gerais. Inspirado no Grupo de Policiamento em reas Especiais (Gepae),
desenvolvido pela Polcia Militar do Rio de Janeiro no ano de 2000, o Gepar
conjuga estratgias de polcia comunitria, o policiamento orientado para
soluo de problemas, e a represso qualificada como ferramentas essenciais
para o controle e preveno da criminalidade, restituio da paz e qualidade
de vida em comunidades carentes.
O Gepar por definio um policiamento pr-ativo, de represso
qualificada, que atua de forma permanente e diuturna em comunidades
especficas (Doutrina do Gepar, 002/05 CG). Neste sentido, esse grupo
especializado se diferencia do policiamento mais tradicional direcionado
para o atendimento reativo a chamadas de emergncia, e das atividades
de polcia desenvolvidas pelos grupos de operaes especiais e tticas de
cunho essencialmente repressivo e espordico.
Atuar de forma pr-ativa e atravs da represso qualificada significa
que as aes do Gepar devem ser pautadas num diagnstico prvio da
criminalidade local, constantemente atualizado a partir do uso, troca, e anlise
sistemtica de informao entre os policiais integrantes do grupo, dos policiais
de inteligncia e das sees de anlise criminal e estatstica das companhias
de Polcia Militar, a qual cada Gepar faz parte. Os resultados de suas atividades
devem ser, assim, avaliados e monitorados de forma continuada. Alm disso,
* Elenice de Souza, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, e
doutoranda em Justia Criminal e Criminologia, pela Rutgers State University of New Jersey, USA.
pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurana Pblica da Universidade Federal
de Minas Gerais e professora dos Estudos Tcnicos promovidos por essa instituio desde 2005.
458
o Gepar deve procurar no apenas conhecer e entender a dinmica do
trfico de drogas e dos homicdios na base territorial em que atua,
identificando indivduos infratores, mapeando gangues criminosas e seus
integrantes, mas tambm conhecer a comunidade local mais ampla, sua
organizao social e caractersticas scio-demogrficas, seus membros, e
suas principais demandas.
Ao conjugar as aes pr-ativa e de represso qualificada, o Gepar
procura reconstruir no imaginrio social da populao marginalizada das
favelas a idia de uma polcia prxima s comunidades carentes; uma polcia
que conhece e conhecida pela populao local; uma polcia para proteger
e servir; uma polcia que tem no uso inteligente da informao, na mediao
de conflitos, na soluo de problemas da comunidade, e no uso legal da
fora os principais instrumentos para soluo de conflitos.
O GEPAR E O PROGRAMA FICA VIVO!
A idia inicial de se criar o Gepar pela Polcia Militar de Minas Gerais
coincide com um perodo das primeiras discusses entre essa instituio
e o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurana Pblica da Universidade
Federal de Minas Gerais (Crisp/UFMG), sobre a concepo de uma
estratgia inovadora de preveno de homicdio capaz de intervir no
problema crnico das mortes envolvendo jovens principalmente em favelas
onde o trfico de drogas foi instalado. Essas discusses foram
concretizadas na realizao de um projeto de iniciativa do Crisp
denominado Fica Vivo! Esse projeto mobiliza no apenas a polcia, mas a
comunidade, e vrios rgos do governo do estado e do Municpio.
O Fica Vivo! sustenta-se em trs grandes pilares: (1) gesto coordenada
envolvendo as vrias agncias do sistema de Defesa Social e outros rgos do
governo; (2) aes de proteo social direcionadas para jovens entre 12 e 24
anos de idade envolvidos ou no com a criminalidade, atravs de oficinas de
arte, cultura, esporte, lazer e profissionalizantes e, o (3) Grupo de Interveno
Estratgica, composto por representantes das polcias estaduais: Militar e de
Investigao; da Polcia Federal; da Promotoria Pblica, e do poder Judicirio.
Alm disso, participam desse grupo os representantes do sistema prisional.
Assim, o grupo de interveno estratgica tem como principal objetivo promover
a integrao entre essas vrias instituies, dando celeridade aos processos
judiciais principalmente de indivduos infratores contumazes e envolvidos em
gangues ao nvel de cada comunidade onde o programa Fica Vivo! est presente.
Grupo Especializado em reas de Risco (GEPAR)
459
Busca tambm avaliar e monitorar de forma conjunta os resultados das aes
judiciais e das polcias no controle e preveno do crime.
O Gepar foi criado de forma incipiente com a primeira experincia
de implementao do Fica Vivo! no Morro das Pedras em 2002 (Beato,
2002; 2003). Com o sucesso desse projeto na reduo dos homicdios e
sua conseqente institucionalizao como um dos principais programas
de preveno e controle de homicdios do governo do estado de Minas
Gerais, o Gepar passou a ser criado em todas as comunidades onde esse
programa foi instalado. A associao direta com esse programa e com
que o Gepar tornasse parte integrante do Grupo de Interveno Estratgica
do Fica Vivo! alm de desenvolver um papel central como catalisador das
demandas da comunidade e elo fundamental entre as aes de proteo
social desse programa e as atividades de polcia comunitria.
Em agosto de 2005, as diretrizes do Gepar so definidas a partir
da instruo no. 002/05 CG, que regula a criao e emprego do Gepar
como um recurso estratgico fundamental da Polcia Militar na preveno
e controle do trfico de drogas e homicdios.
OS POLICIAIS DO GEPAR
O Gepar rene policiais voluntrios, com no mnimo um ano de
experincia em atividade operacional, devendo permanecer no grupo por
um perodo mnimo de dois anos. Esses policiais so treinados pela Academia
de Polcia Militar num curso com durao de 40 horas que abrange diversas
disciplinas entre elas: direitos humanos aplicados atividade policial; polcia
comunitria; mobilizao comunitria; preveno e controle de drogas, entre
outras. Alm disso, os policiais ingressam num curso especial promovido
pelo Crisp/UFMG denominado Estudos Tcnicos. Esse curso direcionado
para os representantes das diversas instituies que integram o Grupo de
Interveno Estratgica do Fica Vivo! que rene: policiais do Gepar, policiais
da Polcia Investigativa, policiais da Delegacia Especializada de Homicdios,
alm de ter como convidados profissionais do Ministrio Pblico e do Poder
Judicirio. Esse curso treina esses profissionais no uso da metodologia de
soluo de problemas; no tratamento, uso, e troca de informaes para
fins de planejamento estratgico e monitoramento das atividades que sero
desenvolvidas pelo grupo de interveno estratgica ao nvel de cada
comunidade onde o programa Fica Vivo! implementado (Estudos Tcnicos,
2005). Alm desse curso, os policiais do Gepar tambm participam do
Elenice de Souza
460
curso de Gestores Comunitrios promovido pela Secretaria de Segurana
Pblica do Estado de Minas Gerais, onde junto com demais representantes
da comunidade onde atuam desenvolvem um plano de segurana local.
De acordo com a Instruo do Gepar no. 002/05 CG, em termos
de estrutura o Gepar distribudo geralmente em trs guarnies, cada qual
composta por trs policiais que atuam por turno de oito horas. Essas
guarnies esto sob o comando de um tenente e so submetidas de forma
regular ao controle e acompanhamento operacional e administrativo. Os
policiais do Gepar so equipados com instrumentos tpicos da atividade policial
militar, tais como colete prova de bala, armamento de porte, pistola .40,
rdios transmissores, algemas, basto tipo tonfa, entre outros. Alm disso,
por ser a geografia das favelas e aglomerados bastante irregular, com terreno
de topografia acidentada, o Gepar utiliza viatura Troler, ou camionetes. Isso
permite que os policiais possam cobrir uma rea territorial que
tradicionalmente era impossvel de ser policiada.
A presena diria dos policiais do Gepar nas comunidades das favelas
onde a polcia s entrava para atendimento de ocorrncias emergenciais, e
operaes repressivas espordicas, tem despertado primeira vista
curiosidade e estranhamento mtuo entre policiais e populao local, muitas
vezes pautado por preconceitos de ambos os lados. Entretanto, no cotidiano
das relaes entre polcia e comunidade que os olhares de desconfiana mtua
so substitudos por olhares de expectativa de confiana mtua. Os policiais
passam pouco a pouco a ser percebidos pela populao como policiais do
Gepar, e diferentes dos outros tipos de polcia, com a funo de proteger e
servir a comunidade. Nesse processo, tambm os membros da comunidade
passam a se tornar familiares aos olhos dos policiais, sendo percebidos no
apenas como aqueles que acionam as chamadas de emergncias, mas como
parceiros na produo da segurana pblica local.
OS DESAFIOS DO GEPAR
Um dos grandes desafios do Gepar tem sido o de construir sua
identidade social como parte integrante da comunidade local, desenvolver
sua atividade tanto preventiva quanto repressiva, alcanando assim a
legitimidade por parte da populao.
Um dos problemas enfrentados pelos policiais do Gepar a
expectativa social de que uma policia prxima da comunidade uma polcia
Grupo Especializado em reas de Risco (GEPAR)
461
mais boazinha, que passa a mo na cabea de bandido. Policiais
reclamam que a aproximao com a comunidade cria na populao a
expectativa de que a polcia ter um comportamento mais conivente, certa
cumplicidade diante de alguns pequenos delitos. Em geral, isso tem gerado
a quebra de confiana de parte da populao em relao aos policiais
quando esses agem de forma repressiva. Assim, comum ouvir relatos
de policiais do tipo:
Uma senhora que me chamava para tomar caf na casa
dela com certa freqncia mudou seu comportamento
comigo depois que o filho dela foi preso por estar envolvido
com crime. Ela no me convida mais para o caf e quando
passo por perto ela faz que no me conhece. (depoimento
de policial do Gepar, 2007).
Esse tipo de comportamento de alguns moradores das reas onde
o Gepar implementado relatado tambm por lideranas comunitrias,
tal como demonstrado num depoimento abaixo:
Aqui no bairro, os jovens costumam pilotar motos sem
documento e a polcia aborda esses meninos e acaba
apreendendo as motos. A populao fica com raiva da polcia
e no entende que a polcia embora seja da comunidade tem
que reprimir aes fora da lei. (depoimento de liderana
comunitria em encontro comunitrio realizado em 2007).
Outra dificuldade enfrentada pelos policiais do Gepar o sentimento
de medo e desconfiana que geralmente a populao de favelas e aglomerados
tem em relao polcia. A entrada da polcia nessas comunidades
tradicionalmente foi pautada por aes repressivas, que acabavam em algumas
situaes por extrapolar a legalidade, resultando em violncia e abuso de
autoridade. Com isso, a presena do Gepar em algumas comunidades no
tem sido percebida primeira vista com bons olhos, sendo acompanhada
por reclamaes e questionamentos por parte da populao em relao
polcia. Isso tambm explicado pelo prprio desconhecimento que a
comunidade tem da polcia, da sua funo, e de como deve agir. Isso evidente
nos primeiros encontros promovidos pela prpria polcia em parceria com o
Fica Vivo! para apresentao dos policiais do Gepar para a comunidade local.
Dvidas sobre a legalidade das abordagens policiais, sobre a necessidade ou
no de apresentao de mandados judiciais para busca e apreenso e priso
de pessoas, alm de questionamentos quanto se a ao do Gepar ser
Elenice de Souza
462
semelhante a dos outros tipos de polcia que atendem ocorrncias na favela
so freqentes. A grande expectativa nesse caso por parte da populao
que a polcia respeite a populao.
Por fim um dos maiores dilemas tem sido a aproximao clara e
visvel do Gepar como parceiro direto do programa de preveno Fica
Vivo! Essa uma situao que tem gerado muitas discusses. Como o
programa aberto a jovens envolvidos com a criminalidade, a parceria
com a polcia pode ser vista por esses jovens com grande suspeita. Assim,
coloca-se em dvida a relao de confiana construda com os tcnicos e
trabalhadores do programa. Esses podem ser identificados como X9, ou
informantes da polcia. Uma das conseqncias disso colocar em xeque
a viabilidade e sucesso do programa em atingir os jovens que buscam no
programa uma sada do mundo do crime, colocando tambm em risco os
profissionais do prprio programa.
A criao do Gepar tem assim trazido tona vrios dilemas sobre a
relao entre polcia, comunidade, e programas de preveno. A soluo
para esses desafios parece ser sem dvida reforar um conceito de polcia
que supere a idia dicotmica de que a funo da polcia se resume em
proteger a populao ordeira e reprimir os fora da lei. Mais do que isso, o
conceito de polcia deve incluir a idia de que a polcia tem um importante
papel enquanto representante da lei e da ordem em dissuadir o
comportamento violento, mediando conflitos e promovendo a mudana
do comportamento dos jovens envolvidos com a criminalidade a partir do
incentivo e participao em atividades de proteo social e comunitria que
incluam esses jovens como pblicos alvo. Desta maneira, a polcia se torna
um elo importante entre os jovens fora da lei, a justia e a proteo social.
Referencia Bibliogrfica
Beato, Cludio Filho (2002) Programa de Controle de Homicdios FICA VIVO! Centro de
Estudos de Criminalidade e Segurana Pblica, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.
_________________ (2003) Homicide Control Project in Belo Horizonte. CRISP Study
Center on Crime and Public Safety, Federal University of Minas Gerais, www.crisp.ufmg.br.
Estudos Tcnicos (2005). Centro de Estudos de Criminalidade e Segurana Pblica, Universidade
Federal de Minas Gerais.
Instruo 002/05, Comando Geral da Polcia Militar de Minas Gerais.
Souza, Elenice de (2007) Relatrios Estudos Tcnicos. CRISP Centros de Estudos de Criminalidade
e Segurana Pblica, Universidade Federal de Minas Gerais.
_______________ (1999). Polcia Comunitria: Avaliao de um Programa de Segurana
Pblica em Belo Horizonte, Minas Gerais. www.crisp.ufmg.br
Grupo Especializado em reas de Risco (GEPAR)
463
B
R
A
S
I
L
Comunicao
UMA POLTICA ALTERNATIVA DE SEGURANA
COM PARTICIPAO SOCIAL: A EXPERINCIA DE
PORTO ALEGRE
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
...paz sem voz no paz, medo... (Rappa)
1. CONSIDERAES INICIAIS
O presente texto visa subsidiar o Curso de Liderana Policial para
o Desenvolvimento Institucional do Projeto Rede de Policiais e Sociedade
Civil na Amrica Latina e trata da problemtica da participao social na
construo e no controle de polticas de preveno e enfrentamento
violncia e criminalidade, tanto no que se refere a uma abordagem das
polticas de atuao da polcia, strito senso, quanto de polticas de maior
amplitude que contemplem uma interveno mais estrutural.
A problemtica central a relevncia de mecanismos de participao
social no contexto da segurana pblica, respondendo aos questionamentos
da necessidade, importncia, oportunidade do envolvimento da
comunidade, tanto na definio de prioridades, quanto na construo e
controle das polticas pblicas nesta rea.
As temticas propostas pelo texto sero desenvolvidas a partir do
debate terico realizado no Ncleo Violncia, Segurana e Direitos
Humanos da Guay
1
e da experincia vivida na Administrao Popular de
Porto Alegre no ltimo mandato, particularmente na gesto da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Segurana Urbana (2003/2004) e no
acompanhamento sistemtico do Conselho Municipal e dos Fruns
Regionais de Justia e Segurana (2004/2007).
O texto se prope a tratar o tema em seis momentos. O primeiro
aborda a transformao da violncia e da criminalidade nos dias de hoje.
O segundo analisa as polticas de segurana implementadas pelos governos
do ponto de vista de sua concepo e prtica e a sua crise atual pela
incapacidade de enfrentar o problema. O terceiro formula, a partir de
uma anlise mais de fundo do crescimento da violncia e da criminalidade,
*
Sociloga - Coordenadora da Guay
**
Oficial Superior da Reserva da Brigada Militar/RS - coordenador do Ncleo Violncia, Segurana
e Direitos Humanos da Guay
464
a necessidade de polticas mais abrangentes de preveno e enfrentamento
da violncia, que sejam articuladas e que dem conta da totalidade e da
complexidade do problema. No quarto momento recuperamos a
experincia do processo participativo em Porto Alegre do ponto de vista
de sua importncia terica, poltica e programtica e de sua prtica social
concreta, seu significado, avano e limites. No quinto, a partir da recuperao
da realizao de duas experincias, buscamos verificar em que medida o
processo de participao contribuiu com a efetivao de polticas de
preveno e enfrentamento da violncia na cidade de Porto Alegre. Por fim,
no sexto momento, avaliamos os limites, alcance, resistncias, obstculos e
avanos efetivos constatados na realizao destas experincias.
2. O CONTEXTO ATUAL DA VIOLNCIA
Nos dias de hoje, o crime est disseminado, presente na normalidade
da vida cotidiana de qualquer segmento e em qualquer espao, realizado,
em geral, sem planejamento, a qualquer hora, de acordo com a
oportunidade que aparece e, cada vez mais, com emprego da violncia
fsica, do uso da arma de fogo e freqente requinte de crueldade. O
assassinato, o trfico de drogas, roubo mo armada e suas variveis,
como o seqestro relmpago, esto no centro da criminalidade, cujos
autores e as vtimas so predominantemente jovens. Se h criminosos
profissionais, h tambm um contingente de jovens que, a partir de uma
dada circunstncia e oportunidade, buscando uma perspectiva de vida,
resolvem praticar o crime.
Na raiz do problema, como grandes impulsionadores deste
processo, esto os empreendimentos criminosos, organizados em escala
internacional, reproduzindo (ou sustentando) um pequeno nmero de
grandes cartis criminosos dominando todo o processo de acumulao
de capital ilegal e, para tanto, organizado em nvel mundial, operando
localmente, estruturado em macro atacado, atacado e varejo e utilizando,
nas diversas etapas de execuo (varejo), pequenos grupos locais. A
realizao destes negcios se d numa grande rede de varejo que opera
em nossas cidades, muitas vezes se desdobrando e/ou sustentando outras
atividades ilcitas, mas principalmente disseminando armas e uma cultura
de violncia que passam a agravar os crimes de menor potencial ofensivo
bem como os conflitos pessoais e de grupos.
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
465
Nos pases com grande desigualdade social e pobreza, como o nosso,
essa rede encontra solo frtil para estruturao de seus negcios a partir
do aliciamento barato de seguimentos descartveis da populao uma
espcie de exrcito de reserva do crime que tem na adeso a este uma
estratgia de sobrevivncia. A omisso histrica do Estado e a excluso de
parcelas crescentes da populao, situao histrica e estrutural em pases
como o Brasil, que se agrava muito com o modelo neoliberal, implantado
na dcada de 90 passada, criam as condies para que o crime prospere
como forma de sobrevivncia, de ascenso social (mesmo que para muito
poucos) e como uma alternativa de vida (e de morte).
No se trata, portanto, apenas de um processo de dimenses (e
com conseqncias) materiais, mas tambm da construo de valores e
de identidades, da constituio de regras e de esferas de poder, de uma
dimenso social mais profunda. No mundo do mercado em que tudo,
inclusive a fora do trabalho, se transforma em mercadoria e onde s
pessoas so reduzidas condio de consumidoras (e, em algumas
circunstncias, a objeto do consumo) vale quem tem capacidade de
consumir, o que descarta uma parcela considervel da populao. No
entanto, o mundo do mercado e seus meios de comunicao transmitem
no cotidiano o apelo de uma sociedade que no real para a grande maioria
e que, permanentemente, desperta desejos de consumo e de incluso
que no tm forma de se realizar, alimentando a frustrao e reproduzindo
a excluso de amplos segmentos, principalmente os jovens, muitos dos
quais, vo aderir s redes do crime como busca de uma alternativa no
apenas de renda e de consumo, mas de pertencimento, de incluso e de
reconhecimento (mesmo pela negativa).
Este quadro se insere na realidade de apartheid social existente em
nosso pas, onde os problemas de violncia, misria e insegurana so
endmicos e fazem parte, juntamente com a fragmentao e a
desarticulao social, de uma estratgia de dominao e reproduo do
modelo existente, onde tambm o Estado, ao longo da nossa histria,
tem sido violador de direitos.
Alm disto, o Estado, como detentor do monoplio da violncia,
muitas vezes demonstra no ter o controle da violncia, da corrupo e
da impunidade dentro de suas prprias esferas, no conseguindo, atravs
de suas diversas instituies com competncia nesta rea, incidir mais
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
466
efetivamente no combate e na preveno violncia junto sociedade, o
que evidencia a necessidade de mecanismos de controle e de preveno
da violncia do Estado pela prpria sociedade.
O que temos visto que o Estado tem sido incapaz de combater o
crime organizado de forma mais efetiva. Em algumas situaes, torna-se
seu refm ou scio quando a rede do crime se estabelece com relaes
com segmentos da elite poltica e/ou econmica. Em outras, torna-se
impotente e despontencializado para o combate ao crime (mesmo o do
varejo) devido adeso a este de segmentos das polcias e/ou outras
instituies, invertendo assim a lgica de ao dos agentes pblicos. Esta
situao, em seu conjunto, gera uma lgica de impunidade, que estimula e
refora o crime, perpetuando e agravando a incapacidade do Estado de
combat-lo, seja no atacado ou no varejo. Tambm gera uma insegurana
que se agrava no conjunto da sociedade, bem como favorece o sentido
de falta de alternativa para os segmentos que vivem e/ou sobrevivem na
relao com o crime, facilitando a adeso a estes, ou gerando um
sentimento de conformismo e adaptao ou ainda, no outro extremo,
justificando a justia com as prprias mos.
Neste contexto, a violncia passa a ser uma escolha, no s na
relao com o crime, mas tambm na vivncia do cotidiano, na resoluo
das diferenas e dos conflitos que so normais e acontecem em todos os
nveis das relaes sociais (trnsito, trabalho, lazer, famlia, vizinhana).
3. POLTICAS DE SEGURANA: CONCEPO TRADICIONAL
A percepo tradicional da segurana pblica representa um
obstculo para obtermos resultados mais satisfatrios em relao ao
problema, limitando a discusso do mesmo s esferas da justia e da polcia,
passando despercebidas ou desconsideradas as demais dimenses deste
grave problema social.
Historicamente, a escolha da criminalidade e da violncia tem sido
atribuda, fundamentalmente, dimenso individual, como desvio
comportamental e desajuste social, tendo como soluo o condicionamento
do comportamento, atravs de aes repressivas. Se isto era suficiente,
em uma poca em que o crime era pontual e uma exceo, na atualidade,
com a massificao e banalizao da violncia e o crescimento significativo
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
467
e desordenado da criminalidade, esta estratgica inoperante e incapaz
de enfrentar o problema.
Na prtica, as conseqncias - condutas criminosas e violentas -
so consideradas como responsveis pelo problema. Desta maneira, sem
preocupao de refletir sobre o motivo que faz com que um nmero
cada vez maior de pessoas pratique delitos e agresses aos seus
semelhantes, o nico caminho visualizado o sistema de justia e polcia,
com o fortalecimento da vigilncia e da punio.
Essa percepo traz trs decorrncias para a visualizao e o
enfrentamento da problemtica da violncia em sua totalidade. A primeira,
que os organismos da justia e polcia responsveis pelo problema, tm
a compreenso de que as solues nessa rea so de sua responsabilidade
exclusiva, sendo os cidados receptores passivos dos servios. A segunda,
que a preveno somente concebida a partir do condicionamento do
comportamento pela ao da justia e da polcia, sem considerar a relao
com outras polticas pblicas. E, a terceira, que a sociedade pouco ou
nada se apropriou do tema, que sempre foi responsabilidade das
autoridades especializadas, dificultando qualquer forma de participao,
avaliao e cobrana, resultando no afastamento da comunidade da
discusso das polticas de segurana e da interao com os organismos
responsveis pela prestao de servio nessa rea, pois, com esta
percepo, o assunto deve se restringir aos profissionais de polcia e justia,
sendo meramente uma interveno tcnica.
Neste contexto, qualquer reflexo sobre o sistema de justia e
polcia mostra que o mesmo uma caricatura daquilo que descrito na
nossa legislao. Na prtica funciona com muita fragilidade, com cada
organismo atuando quase que isoladamente, estabelecendo intervenes
fragmentadas e com um baixo nvel de auxlio mtuo, alm de distanciado
da realidade das comunidades. Entre as evidncias da situao, pode-se
citar a inexistncia de uma base de dados nica, a falta de coincidncia
entre as reas de atuao dos rgos, bem como com a diviso
administrativa dos municpios, e a ausncia de coordenao do sistema.
Sua atuao traz evidncias da violncia, arbitrariedade, corrupo,
amadorismo e de uma seletividade dominada pelos estigmas e pelos
preconceitos. Sua baixa capacidade de respostas s demandas do cotidiano
que, no Rio Grande do Sul, est representada por 1,4 milhes de inquritos
policiais parados nas Delegacias de Polcia; por 20 mil mandados de priso
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
468
a serem cumpridos; pela remessa de somente 42% dos inquritos policiais
abertos em um ano justia; pelas 3,6 mil percias aguardando soluo
por mais de ano e inviabilizando o processo penal; pela manifestao do
Ministrio Pblico de que, por ano, somente consegue denunciar 17%
dos inquritos analisados, estimulando assim todo um processo de
impunidade, alm de mostrar com muita clareza a defasagem do sistema.
4. POLTICAS DE SEGURANA: CONCEPO ALTERNATIVA
A construo de formas alternativas para o tratamento da
problemtica da violncia e da criminalidade passa pela necessidade de
perceb-la diferentemente do que tem sido a compreenso tradicional,
analisando a mesma no seu conjunto e com todos os elementos que a
compem. Assim, uma poltica alternativa de segurana precisa ser
composta, no mnimo, por trs elementos estruturantes.
O primeiro deles a construo de um outro patamar de
funcionamento do sistema de justia e polcia, qualificado, respeitoso,
adequado, integrado, complementar, e submetido participao e controle
da comunidade, contemplando suas duas dimenses tanto individual de
cada ente, quanto coletiva como sistema.
Na dimenso especifica de cada ente, por desenvolver capacidade
tcnica apurada, gesto qualificada, incorporao de tecnologia e boas
condies de trabalho, e, alm disso, possibilitar, em todas as etapas da
interveno, reconhecimento das diferenas e das diversidades sociais,
garantindo os direitos individuais e o respeito dignidade das pessoas,
reagindo contra os preconceitos e os estigmas, colocando no centro da
atuao a ateno aos cidados (s) e que o uso da fora e da violncia legal,
seja judicioso, necessrio, legtimo, no reproduzindo a violncia criminosa.
Nesta dimenso, ainda necessria uma adequao mais rigorosa s finalidades
de cada instituio, potencializando sua ao, superando a impotncia e a
impunidade que deriva da incapacidade de resposta.
Na dimenso coletiva do sistema, deve-se considerar pelo menos
trs aspectos. 1) Mesmo no mbito da interveno de cada ente, o
funcionamento como sistema potencializa a capacidade individual de
resposta a partir do compartilhamento de informaes, da elaborao de
diagnsticos conjuntos, da sintonia das aes, atribuindo mais qualidade
ao processo como um todo. 2) O nosso sistema jurdico-institucional
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
469
tem um desenho onde os entes possuem funes complementares que,
mesmo tendo limitaes, devem funcionar de forma integrada, com alto
grau de complementaridade entre as atividades planejadas e os servios
cotidianos prestados, com reas geogrficas de atuao coincidentes, banco
de dados nico, inteligncia e formao bsica unificada, com sincronia
entre as aes e os processos desenvolvidos, considerando todos os nveis
pblicos e comunitrios. 3) Alm da interveno especfica de cada ente
deve-se considerar que, para o enfrentamento de alguns problemas, so
necessrias intervenes em conjunto, desenvolvidas a partir da elaborao
de diagnsticos especficos para cada situao (espacial, temporal ou
temtica), orientadas em uma metodologia que contemple um
planejamento sustentado no exerccio de inteligncia estratgica, voltado
para o tratamento das incidncias recorrentes e executado de forma
integrada e complementar.
Os outros dois elementos estruturantes de uma poltica alternativa
de segurana decorrem da constatao de que, se a escolha da violncia e
da criminalidade tem uma dimenso individual, atualmente, pela sua
disseminao e recorrncia, torna-se um problema social grave, no
podendo mais ser tratado com a lgica anterior, apenas no mbito das
aes de polcia e justia. necessrio o reconhecimento da sua dimenso
social, do contexto em que est inserida, passando a ser compreendida
como um problema bem mais complexo que envolve socializao,
formao de subjetividade, pertencimento, reconhecimento,
oportunidades e incluso. Neste mbito a estratgia central a articulao
de polticas de preveno.
Assim, o segundo elemento estruturante desta poltica alternativa
de segurana - aes e polticas sociais -, deve ser considerado em uma
dimenso geogrfica e comunitria especfica, relacionada a diagnsticos
detalhados do espao a ser considerado, contemplando um processo
coordenado, focado e sincronizado, caracterizado pela participao de
todos os segmentos, buscando trabalhar os problemas especficos
identificados. Este mtodo deve ter uma capacidade de construir uma
interveno integrada, permeando a execuo das diferentes polticas
sociais com a preveno e o enfrentamento do problema, possibilitando
resultados concretos no campo da incluso material e social, da promoo
de oportunidades legtimas, melhorias das condies ambientais e de vida.
Alm do que, o mtodo deve potencializar os pontos crticos da execuo
das polticas pblicas universais, como o abandono da infncia, a evaso
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
470
escolar, a gravidez na adolescncia, a drogadio, as medidas scio-
educativas, a violncia domstica, a progresso da pena e a reincidncia.
O terceiro elemento estruturante de uma poltica alternativa de
segurana consiste na participao social, representada, tanto pelo
envolvimento e organizao coletivas para discutir problemas locais e
encaminhar lutas e interesses comuns, romper com o isolamento e ocupar
coletivamente espaos pblicos, estimular a coeso e a construo de pactos
de convivncia, definir estratgias de resoluo de conflitos e das insatisfaes
atravs de meios no-violentos, quanto tambm, pela participao na
construo de diagnsticos, definio de prioridades, monitoramento e
avaliao dos projetos da segurana pblica e no controle social.
Assim, uma forma alternativa de tratar a segurana passa pela
compreenso ampliada da idia de preveno, onde somamos as aes
repressivas da justia e da polcia, que queremos adequadas e qualificadas,
com as aes preventivas - polticas sociais, urbanas e comunitrias, voltadas
para a harmonia e fortalecimento da coletividade. O desafio aqui tem
outra lgica: quais as polticas que uma sociedade deve adotar para diminuir
o nmero de pessoas a fazerem escolhas pelas condutas criminosas e/ou
violentas. Neste sentido, uma poltica alternativa de segurana precisa
contemplar, no mnimo, estes trs elementos estruturantes: aes de polcia
e justia, articulao e integrao de polticas pblicas e as aes de
envolvimento da comunidade, a partir de uma interveno focalizada,
integrada, sincrnica e coordenada.
5. PORTO ALEGRE: A PARTICIPAO SOCIAL NA CONSTRUO
DE POLTICAS PBLICAS.
Em Porto Alegre, no perodo de 1989-2004, durante as gestes da
Administrao Popular, se desenvolveu um processo de participao social,
fruto do acmulo dos movimentos sociais e comunitrios e do
compromisso do governo. Esta experincia foi gestada a partir da discusso
do oramento pblico e das prioridades de investimentos do municpio,
avanando para a estruturao do Oramento Participativo, com ciclo
anual e permanente de funcionamento, de 32 Conselhos Municipais
Setoriais, Conferncias Municipais Temticas e Congressos da Cidade.
O desenvolvimento e a estruturao deste sistema de democracia
participativa significaram efetivamente um processo de socializao da
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
471
poltica, com a superao das distncias entre governantes e governados,
com a criao dos espaos democrticos de participao e de deciso,
consolidao de uma nova esfera pblica no governamental, de elaborao
de polticas, de deciso, de fiscalizao e controle do oramento e da
gesto. .Uma experincia de democracia que, mais alm dos mecanismos
formais herdados do liberalismo, promoveu formas participativas e diretas,
mais amplas, mais profundas e mais autnticas, mais do que uma mera
representao, tendo uma dimenso de participao direta e de
deliberao, onde o sistema poltico abre mo das suas prerrogativas de
deciso em favor da afirmao da participao popular. Este processo
teve o mrito de romper com a lgica da relao do Estado com a
populao no Brasil, via de regra, caracterizada pelo afastamento e
autoritarismo, bem como pelo paternalismo, populismo e a
instrumentalizao da participao popular.
Por outro lado, esta experincia fomentou a auto-organizao social
como elemento fundamental de socializao da poltica, numa participao
ativa e deliberao coletiva na construo de um novo poder, onde os
excludos passam a ser sujeitos de sua prpria histria. Este processo formou
uma gerao de lideranas comunitrias e sociais nesta nova perspectiva,
capilarizou iniciativas de organizao e aes comunitrias, integrou
segmentos e regies, constituindo identidades, enraizamento e solidariedade.
Outra dimenso importante desta experincia democrtica que o
impacto do oramento participativo na redistribuio dos recursos
pblicos a favor dos grupos sociais mais carentes e no estabelecimento
de novos critrios de justia na distribuio dos investimentos, bem como
os processos de elaborao das polticas pblicas nas mais diferentes reas,
mudaram a face da cidade, num movimento criativo de superao da lgica
de excluso social e poltica, na construo de direitos, de polticas
compensatrias e afirmativas, enfrentando o preconceito e a discriminao,
contemplando a diversidade, o respeito s diferenas, a solidariedade, e a
exigncia de igualdade e de justia social com pluralismo poltico e cultural.
Por fim, salientamos como um dos resultados desta experincia, o
acmulo no sentido da construo de uma nova hegemonia poltica. A
ampliao e o aprofundamento do processo participativo produziram novas
prticas e novas relaes que mudaram a vida da cidade e dos cidados.
Produziram tambm novos valores e novas snteses, numa dinmica que
se renovou e se enriqueceu, afirmando mecanismos polticos que
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
472
garantiram a participao, o dilogo, a formao, a partilha, a socializao
da informao e dos investimentos, a apropriao e a construo de
conhecimento, o controle crescente do poder. Com certeza, um processo
curto do ponto de vista histrico, com contradies e limites. Mas uma
experincia corajosa, alternativa e radical, como semente de uma nova
sociedade baseada na participao, na solidariedade e na justia social.
Uma democracia conscientizadora e transformadora de si mesma, uma
mostra de que um outro mundo possvel.
6. A PARTICIPAO SOCIAL E A SEGURANA EM PORTO ALEGRE
na seqncia desta histria que, a partir de 2001, no incio da quarta
gesto da administrao popular, o tema da segurana passou a ser
incorporado como uma poltica a ser desenvolvida tambm como
responsabilidade do municpio, o que resultou em um diagnstico e
articulaes iniciais, bem como algumas aes. Ao final de 2002 foi criada a
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurana Urbana (SMDHSU),
fruto de duas Conferncias Municipais de Direitos Humanos e da experincia
acumulada no municpio no tratamento do tema da violncia.
Dando conseqncia ao processo participativo na apropriao e no
desenvolvimento de uma poltica de preveno da violncia, durante o
ano de 2003, foi realizado um roteiro de seminrios e plenrias nas 16
regies do Oramento Participativo, culminando com a elaborao do
Plano Municipal de Segurana Urbana e a formulao e estruturao de
um Sistema Municipal de Proteo Social, constitudo do Conselho
Municipal e sua rede, com os 16 Fruns Regionais e os Conselhos
Comunitrios de Justia e Segurana, nas regies da cidade.
Duas aes realizadas a partir do Plano Municipal so objetos deste
texto, pois tratam especificamente do tema da participao social em um
projeto de preveno violncia e segurana o Conselho Municipal de
Justia e Segurana e sua rede - e a interveno localizada junto
comunidade do Loteamento Cavalhada. Cada experincia est relatada
separadamente, sem, contudo, obedecer ordem cronolgica.
O Sistema Municipal de Proteo Social
O Conselho Municipal, os Fruns Regionais de Justia e Segurana
e os Conselhos Comunitrios foram criados por lei municipal em janeiro
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
473
de 2003 (Lei 487, 14Jan03), como espaos de articulao dos rgos
pblicos e comunitrios na anlise da temtica, elaborao de diagnsticos,
e na busca das solues mais adequadas para o enfrentamento e a preveno
violncia, nos nveis municipal, regional e local, na perspectiva de uma
metodologia de resoluo de problemas. Sua estrutura e organizao
foram posteriormente definidas a partir de um processo de discusso
com a comunidade. Este debate ocorreu durante o ano de 2003 e definiu
a regulamentao da Lei, sendo concludo em maro de 2004, quando foi
instalado o Conselho Municipal e sua rede dos 16 Fruns Regionais.
Do ponto de vista da distribuio geogrfica, o Sistema Municipal
de Proteo social busca estabelecer uma capilaridade em toda a cidade,
atravs do Conselho Municipal de Justia e Segurana e sua rede que
composta por 16 Fruns Regionais, um em cada regio do Oramento
Participativo e, ainda nestas regies, a disseminao dos Conselhos
Comunitrios de Justia e Segurana.
A finalidade bsica do Conselho constituir-se em um espao que:
a) estimule a articulao dos organismos judiciais, policiais, sociais e
comunitrios no desenvolvimento das atividades de segurana pblica no
municpio; b) represente um espao permanente de debate, fiscalizao e
avaliao das questes referentes ao tema; c) garanta a participao
comunitria para encaminhar problemas, solicitaes, sugestes, avaliao
de projetos pblicos e prestao de contas; e, d) sirva de canal de
comunicao com os rgos pblicos para demandar servios e
providncias. Sua composio tem um representante comunitrio de
cada Frum Regional, representantes dos rgos municipais, dos rgos
estaduais, da Polcia Federal, do Ministrio Pblico, de organizaes no-
governamentais. Os Fruns Regionais consistem em uma extenso
regionalizada do Conselho tendo uma composio semelhante, sendo
integrado por 13 representantes comunitrios da regio, eleitos em
assemblias, realizadas a cada dois anos, sendo um dos 13 indicados como
representante no Conselho Municipal.
A participao dos organismos pblicos do estado, da unio e dos
demais poderes e das organizaes no-governamentais decorreu de um
processo de articulao e negociao organizado pelo governo municipal,
culminando com a assinatura de um protocolo formalizando a adeso.
Nesta articulao, duas instncias no aceitaram participar, o Poder
Judicirio, que alegou incompatibilidade com a lei da magistratura e a
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
474
Defensoria Pblica do Estado que, mesmo reconhecendo o mrito e
importncia da poltica, alegou deficincia de quadros.
Este perodo inicial de construo do Sistema dividido em duas
fases distintas. A primeira delas, durante 2003 e 2004, foi de implantao
atravs de intensos movimentos de articulao e mobilizao, tantos dos
rgos pblicos, como da comunidade, na estruturao de cada instncia,
trazendo como resultado, ao final de 2004, o funcionamento ordinrio mensal
do Conselho Municipal e de seus Fruns Regionais. Este esforo foi
coordenado e impulsionado pela SMDHSU, conformando aos poucos o
que deve ser o papel do municpio na segurana urbana, num processo de
construo coletiva com participao institucional e comunitria,
considerando pesquisas, diagnsticos, produes tericas e acadmicas,
em sintonia com o debate nacional dos municpios sobre esta problemtica,
com as iniciativas do governo Lula, e com acompanhamento de experincias
internacionais. Portanto, existiu uma deliberao, uma intencionalidade do
governo da Administrao Popular em, ao assumir a problemtica da
segurana como responsabilidade sua, faz-lo de forma a romper com os
limites da poltica tradicional, buscando a construo de um novo paradigma
que, integrando todos os responsveis pela questo que exercem suas
atribuies no municpio, com a participao da comunidade, sustentasse
um processo de construo de uma poltica alternativa que superasse os
limites e os estrangulamentos atuais das polticas de segurana. Para isto,
contvamos com a extraordinria experincia participativa de Porto Alegre
na elaborao de polticas pblicas e com o acmulo produzido na rea da
segurana pelo governo popular no Rio Grande do Sul, de 1999 a 2002.
A partir de janeiro de 2005, com uma nova gesto na administrao
municipal, eleita no ano anterior, esta poltica ingressa numa segunda fase.
Mesmo que o novo prefeito (Jos Fogaa, eleito pelo PPS, atualmente no
PMDB para concorrer reeleio), em alguns eventos pblicos, tenha
manifestado a importncia e o ineditismo das linhas de interveno do
Plano Municipal, em especial o Conselho e Fruns Regionais de Justia e
Segurana, e que seu governo tenha o compromisso de manter, pois
considera polticas de Estado, a prtica tem sido muito diferente. Percebe-
se um claro retrocesso, pela carncia de uma concepo clara e pela
realizao de uma execuo caricata, bem como pela desestruturao da
Secretaria, enquanto gestora pblica responsvel pelas polticas de direitos
humanos e segurana urbana, considerando como nico elemento da
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
475
poltica municipal de segurana a Guarda Municipal, representando uma
verso local da polcia.
Em relao ao Conselho Municipal e sua rede, existe um total
descaso, tanto do ponto de vista de enfraquecer o apoio tcnico e
administrativo, quanto pela da falta de discusso, nestes espaos, dos
projetos e suas prioridades e das prestaes de contas, alm de
desconsiderar totalmente o Plano Municipal aprovado e as decises da 1
Conferncia Municipal de Segurana Urbana (realizada pelo Conselho
Municipal em maio de 2006). Esta situao foi se agravando com o passar
do tempo neste perodo de 2005/2007, a ponto de, no primeiro semestre
de 2007, ocorrer um movimento de conselheiros comunitrios para
garantir o funcionamento do sistema, que elaborou carta-denncia,
provocando sesso pblica na Cmara de Vereadores e audincias no
Ministrio Pblico Estadual e Federal, alm do encaminhamento de
documento ao Ministrio da Justia.
Esta situao permite destacar que, dentre os limites e obstculos
instituio e ao funcionamento de um sistema como este, trs questes
so centrais. A primeira delas que a ao do poder pblico fundamental
para a efetivao desta poltica. Seu comprometimento e sua participao,
tanto na articulao do processo, quanto na construo e validao
permanente destes espaos como fruns privilegiados para discutir seus
projetos, definir prioridades, fazer as prestaes de contas devidas,
considerando-o como um espao permanente de dilogo com a
comunidade, so condies necessrias para o desenvolvimento das aes
nesta rea. Mas em Porto Alegre, neste momento, acontece ao contrrio.
O poder pblico municipal est capitaneando a desconstituio do
processo. A fala do prefeito de que so polticas de Estado no resiste
lgica hegemnica de uma gesto tradicional do Estado e das polticas
tradicionais de segurana pblica.
A segunda questo central para a afirmao desta proposta que o
poder pblico deve ser fiador, perante comunidade, da nova possibilidade
representada por esta nova construo, possibilitando assim a superao,
por parte da comunidade, dos limites do senso comum que consideram
o enfrentamento da violncia e da criminalidade somente a partir da
interveno da polcia e da justia, o que inibe a participao e dificulta a
atuao voltada preveno e a construo de um plano integrando as
demais polticas pblicas e aes sociais no processo da preveno. Se
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
476
isto foi um importante elemento impulsionador da primeira fase da
construo do Sistema de Proteo Social, agora, a situao invertida. A
comunidade pressiona o poder pblico municipal para assumir suas
responsabilidades legais frente ao processo, inclusive denunciando-o e
recorrendo outras esferas institucionais.
Por fim, a terceira questo que se coloca como um elemento
insubstituvel para efetivao do Sistema de Proteo Social a necessidade
da experimentao. Somente a partir do funcionamento concreto desta
engrenagem que pode haver a integrao das instituies, a participao
da comunidade, a socializao de informaes, a elaborao coletiva, a
construo de acordos, constituindo capacidade de decidir sobre os
processos, de monitorar e avaliar as aes. Apenas o funcionamento efetivo
poder mostrar contradies e limites a serem superados. Portanto, a
experimentao um requisito consolidao do sistema, que s tem
sentido se, com seu funcionamento, conseguir incidir no enfrentamento e
na preveno violncia vividos em nossa cidade.
Hoje, no entanto, temos uma participao dos organismos pblicos
de muito baixa qualidade, pois, alm do quadro de ausncias freqentes e
significativas, inclusive de alguns rgos municipais que h meses no
comparecem, os que comparecem no se dispem a privilegiar esta
instncia como um espao de construo e controle de polticas de
segurana, tendo uma participao meramente formal. E, a participao
comunitria, que se esfora para garantir a consolidao do Conselho e
sua rede, mas com muitas dificuldades.
Com certeza, a situao que vivemos hoje no possibilita que a generosa
experincia participativa de Porto Alegre fecunde, com sua energia e seu
potencial criativo, a construo de uma esfera pblica mais ousada que, a
exemplo do acontecido em muitas outras reas, possa responder ao
enfrentamento dos problemas da violncia e da segurana, contribuindo para
melhores condies de vida na cidade, para a garantia de direitos, para a
afirmao da democracia como mtodo de construo das polticas e para a
afirmao de sujeitos como condio para a democracia. Mas esta construo
um processo em aberto, portanto, uma histria a ser continuada.
Interveno localizada no Loteamento Cavalhada
O Plano Municipal de Segurana Urbana previa, como uma de suas
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
477
Linhas de Interveno, as intervenes localizadas que consistiam no
desenvolvimento de uma estratgia de preveno e enfrentamento
violncia, com uma metodologia adequada para interveno em
comunidades em situao de vulnerabilidade social e submetidas a
processos de violncia e criminalidade, com o objetivo de alterar
significativamente a situao, criando capacidade comunitria de resistncia
e construo de alternativas. Para tanto foram escolhidas oito
comunidades, uma de cada regio de planejamento da cidade, com os
critrios acima e com histrias emblemticas que simbolizam a
problemtica, sendo o Loteamento Cavalhada uma destas reas.
O Loteamento Cavalhada resultado de um processo de
assentamento de famlias oriundas de ocupaes irregulares, possuiu 584
casas, com aproximadamente trs mil pessoas, caracterizando uma
comunidade jovem e de baixa renda e escolaridade. No Loteamento h
uma presena significativa e de qualidade do poder pblico, pois alm das
novas casas, no seu interior existe escola municipal, posto de sade da famlia,
creche comunitria, mdulo de esporte, mdulo da assistncia social,
incubadora de gerao de renda e uma unidade de triagem de lixo reciclvel,
operada por uma cooperativa de catadores de moradores do local.
Em junho de 2002, o loteamento apresentava a seguinte
caracterizao: 1) Dois grupos criminosos, compostos majoritariamente
por jovens integrantes da comunidade, disputavam os espaos, havendo
brigas e tiroteios freqentes, varejo do trfico de drogas e de armas, o
que dividia o loteamento, literalmente, em duas partes distintas; 2) Os
problemas de violncia entre os dois grupos criminosos estavam colocando
em colapso todos os servios pblicos ali existentes: a escola operava
com 50% de sua capacidade, o mdulo do esporte e o da assistncia
social foram desativados, o Posto de Sade da Famlia ameaava fechar, a
incubadora foi desativada, a creche apresentava constantes depredaes
e furtos e a unidade de triagem apresentava dificuldade no seu
funcionamento: 3) A comunidade fragmentada e fragilizada, submetida
lgica imposta pelos grupos criminosos, demonstrava muito medo, no
apresentando condies para qualquer reunio ou ao, pelo menos nos
limites do loteamento, ou em atividades pblicas, sendo que igual medo
apresentavam os servidores pblicos municipais para realizarem suas
atividades naquele espao. A Associao de Moradores estava totalmente
desarticulada; 4) Havia conflito do loteamento com o entorno, produzido,
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
478
no primeiro momento, pelo preconceito com as condies sociais de
vulnerabilidade da comunidade e sua origem, uma vez que a regio
integrada por comunidades bem desenvolvidas e com um bom nvel
socioeconmico e, num segundo momento, pelo agravamento da violncia
que extrapolava os limites do loteamento, como os tiros disparados nas
disputas entre gangues. Alm do que, grande parte dos roubos e furtos
da regio passava a ser atribuda queles moradores, sendo que estas
notcias estavam ocupando pauta da mdia da cidade.
Esta caracterizao tem uma peculiaridade importante a ser
considerada, pois contraria a afirmao de que a violncia e o crime se
alastram onde o poder pblico e seus servios no esto presentes. Neste
loteamento, os servios pblicos e seus equipamentos estavam presentes
em uma proporo considervel e de boa qualidade e, mesmo assim, a
comunidade ficou merc de uma pequena representao de criminosos, a
partir do que, os servios foram um a um, sendo atingidos. Isto permite
considerar que insuficiente somente oferecer as condies e os servios
de qualidade. As execues de polticas pblicas precisam dialogar e ter
capacidade de responder ao contexto no qual esto inseridas - no caso, a
violncia. Alm disto, devem estar sintonizadas e articuladas com a execuo
das polticas de segurana na regio, bem como estimular o fortalecimento
das relaes comunitrias e das organizaes da comunidade.
Assim o governo municipal, em julho de 2002, resolveu promover
uma interveno para restabelecer condies de convivncia e comunidade
no local e restabelecer o oferecimento pleno da prestao do servio
pblico. Esta interveno ocorreu antes da criao da Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e Segurana Urbana em decorrncia da situao
peculiar de violncia que a comunidade vivia. Seu acmulo foi importante
para a criao da secretaria e para a elaborao do Plano Municipal de
Segurana Urbana. A experincia aqui relatada ocorreu entre agosto de
2002 e dezembro de 2004.
A questo da segurana, em seus primeiros passos no municpio,
era ento responsabilidade da Secretaria de Governo Municipal, que
coordenou o processo que, portanto, contou com uma certa capacidade
de centralizao do governo. Iniciou com a formao de uma Gerncia
Ampliada especfica para articular e realizar as atividades dos diversos
rgos do municpio com interface na comunidade. As aes planejadas
contavam quatro eixos: 1 - aes sistmicas que potencializavam os
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
479
servios; 2 - mobilizao e envolvimento da comunidade; 3 - aes
coletivas de oferecimento de oportunidades, gerao trabalho e renda,
esporte, cultura e lazer; e, 4 - articulao de parcerias institucionais. O
plano de interveno do governo municipal foi organizado em trs etapas:
aes emergenciais, aes a mdio prazo e aes a longo prazo.
Duas medidas efetivaram as aes emergenciais: uma articulao
com as policias, em especial a Brigada Militar que realizava o policiamento
ostensivo na regio; e, aes do governo municipal, que tinham o objetivo
de mobilizar e envolver a comunidade, alm de criar as condies para a
superao do medo nas aes coletivas em vias pblicas.
A Brigada Militar, a partir da articulao, planejou e executou por
um perodo de dois meses, o policiamento ostensivo com viaturas
permanentes durante 24 horas por dia, o que de imediato inibiu o trnsito
em pblico de armas de fogo, alm de inviabilizar o comrcio criminoso
ali instalado e, aps, manteve um policiamento direcionado de acordo
com as avaliaes que iam sendo feitas. Durante este perodo as atividades
policiais na regio originaram a priso de lideranas criminosas dos dois
grupos e desarticulou a organizao do comrcio ilegal local. A Polcia
Civil no participou do processo, pois o delegado responsvel pela
delegacia regional na poca solicitou, como condio, que a prefeitura
fosse parceira para obter, junto ao poder judicirio, mandato de busca e
apreenso para as 584 casas do loteamento, o que, evidentemente, estava
fora de questo. Se o delegado no conseguia cumprir com sua
responsabilidade de fazer investigao, a prefeitura no seria parceira na
violao de direitos bsicos daqueles cidados. A ao da Brigada foi
monitorada e avaliada durante sua execuo, pois no queramos reproduzir
a violncia contra a comunidade, que muitas vezes acontece quando a
polcia faz este tipo de operaes. Cabe ressaltar aqui, que a ao da
Brigada Militar foi em consonncia com os propsitos da interveno
planejada pela prefeitura, o que nos demonstra o potencial que existe
para aes conjuntas, planejadas e executadas em conjunto, com o mesmo
objetivo, onde cada um dos rgos cumpre o seu papel, permitindo um
avano na qualidade do resultado, na afirmao de direitos e de cidadania
para as comunidades envolvidas.
Paralelamente ao da Brigada, o governo municipal planejou um
conjunto de aes que tinham o objetivo de romper com a situao que
estava posta e envolver a comunidade, fortalecendo-a enquanto coletivo.
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
480
Estas aes contemplaram a oferta de servios pblicos em via pblica,
na primeira fase, com intensidade e concentrao, principalmente
ocupando as vias principais do loteamento com a oferta de diversos
servios na rea da sade, educao, cultura, esporte, assistncia social,
regularizaes de documentao, alm de desenvolver atividades, como
cultos ecumnicos, campanhas temticas especficas, abertura da escola
nos finais de semana, contato com pessoas na rua e visitas dos agentes
municipais s residncias, levantamentos de opinies e atualizao do
cadastramento da habitao. Com os jovens foram estimulados diversos
processos temticos atravs de oficinas semanais, a partir da escola, onde
foram escolhidos pelos prprios jovens os temas da rdio comunitria,
capoeira, dana, grafite.
O primeiro resultado, alcanado ao final do ms inicial destas medidas,
foi o envolvimento de parcela da comunidade nas atividades o que possibilitou
a realizao de reunies comunitrias no prprio loteamento, junto escola,
envolvendo a comunidade, a Gerncia Ampliada e outras organizaes
pblicas, como a Brigada Militar. Destas reunies resultou um plano de
atividades que contemplou a formao de grupos de atividades (Mutiro da
Praa, Mutiro da Limpeza, Clubes de Mes e Conselho da Praa) e
comisses (Praa, Jornal, Segurana, Direitos Humanos).
Na seqncia, com reunies peridicas e sistemticas, o plano de
atividade continuou a ser executado, monitorado e avaliado. Entre as aes
concretizadas esto: a organizao da praa, a edio de dois jornais sobre
a histria do loteamento, oficinas diversas, renovao da direo da
Associao dos Moradores, debate e votao pblica para escolha dos
nomes das ruas do loteamento, encaminhamento do projeto com os
nomes de ruas para a Cmara de Vereadores, mutiro da limpeza, eventos
culturais e temticos, processo de oficinas para a juventude, grupo de
gerao de renda das mulheres, a partir do clube de mes, pesquisa sobre
os moradores e atualizao do cadastro do Departamento Municipal de
Habitao, exposio de produtos produzidos e feiras de artesanatos,
ampliao da Unidade de Triagem (gerando 24 novos postos de trabalho),
e, por fim, desenvolvimento da atividade de macro drenagem e a
pavimentao das ruas.
Ao final deste perodo, as avaliaes realizadas mostravam uma
melhoria significativa das condies de vida do loteamento, o fortalecimento
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
481
da comunidade e a reduo das manifestaes da violncia e da criminalidade,
alm do que os grupos criminosos estavam desarticulados. Entre os pontos
destacados, esto: a reorganizao e o fortalecimento da Associao de
Moradores, a criao do Clube de Mes e um grupo de gerao de trabalho
e renda participando em uma rede de economia solidria; retorno da
normalidade dos servios pblicos; a violncia na comunidade saiu das notcias
da mdia; a comunidade passou a ter a auto-gesto da creche comunitria;
reduo das atividades do trfico e de circulao de armas; reduo dos
conflitos violentos e das ocorrncias policiais; os espaos pblicos sendo
ocupados com maior intensidade e coletivamente; diminuio da evaso
escolar; diminuio da depredao dos prdios pblicos e comunitrios;
renovao da capacidade da escola; confiana maior na circulao nos espaos
pblicos; rompimento da diviso fsica do loteamento estabelecida pelos
grupos em conflito.
Algumas questes importantes, que foram tratadas no processo da
interveno, ficaram pendentes, pois, pela sua complexidade, requeriam
um tempo mais prolongado de ateno, oportunidade que no tivemos,
para articulaes interinstitucionais e acmulos que permitissem avanos
mais significativos. Trata-se do cumprimento das medidas scio-educativas,
do melhor acompanhamento do problema da evaso escolar, da
drogadio dos jovens, da gravidez na adolescncia, das aes do Conselho
Tutelar (que se negou a participar do processo), da violncia domstica e
do problema do acompanhamento das progresses de medidas penais e
dos egressos do sistema penitencirio. Acreditamos que o investimento
nestas questes num espao maior de tempo teria trazido resultados
significativos ao processo.
Hoje, o governo municipal no mantm a metodologia de ao da
forma que havia sido concebida neste processo e, se verdade que muitas
das coisas construdas na interveno se mantm, como o caso da
Associao dos Moradores, Grupo de Gerao de Renda, gesto
comunitria da creche, e os ndices de violncia no voltaram quele
patamar do incio da interveno, a problemtica da violncia foi retomada
em certa medida e no h forma coletiva e articulada de enfrentamento
ela. Sendo emblemtico de paradigma na execuo das polticas pblicas,
a primeira medida do governo municipal atual foi construir um muro em
torno da escola que s atende prpria comunidade.
Helena Bonum
*
e Luiz Antnio Brenner Guimares
**
482
7. CONSIDERAES FINAIS
A complexidade do contexto contemporneo da violncia e a falncia
das polticas pblicas tradicionais de segurana no seu enfrentamento criam
a necessidade da busca de polticas alternativas, que contemplem os vrios
elementos que compe este grave problema social. Assim, por um lado,
preciso dar um outro patamar de qualidade e inteligncia s aes de
polcia e justia, capaz de responder s demandas atuais. E, por outro
lado, preciso agregar a estas aes a preveno atravs das polticas
pblicas de incluso e organizao social e tambm das aes de
participao social.
A participao social em uma poltica alternativa de segurana pode
ser efetivada atravs de espaos de integrao entre as esferas institucionais
e governamentais e comunitrias, na afirmao de uma nova esfera pblica
onde realmente ocorra o debate e as deliberaes relativas aos projetos
nesta rea (prioridades, monitoramento, avaliao e prestao de contas)
e o controle social das aes governamentais na execuo das polticas.
Sem que isto secundarize a necessidade de que estes rgos com
competncia na rea de justia e polcia tenham sua esfera de planejamento
e deciso prpria, que precisa ser efetiva a partir da relao com o
processo mais amplo. E, tambm, atravs das aes coletivas da prpria
comunidade no sentido de fortalecer a coeso e organizao social em
torno dos seus problemas comuns e de suas lutas, na busca de pactos de
convivncias mais solidrios e justos.
Por fim, cabe destacar que o principal limite participao social
em uma poltica de segurana constitudo pelo grau de
descomprometimento e falta de envolvimento do poder pblico em
cumprir a sua parcela de responsabilidade na estruturao e no
funcionamento destes mecanismos.
Nota
1
Guay, Democracia, Participao e Solidariedade (www.guayi.org.br)
Uma Poltica Alternativa de Segurana com Participao Social:
a Experincia de Porto Alegre
483
C
H
I
L
E
Relato Policial
CARABINEROS DO CHILE COMO
GARANTIA DA ORDEM PBLICA NO CONTEXTO
DO CONFLITO MAPUCHE
Hernando Hevia Hinojosa
*
Por Mandato Constitucional, conforme o artigo 90 da Constituio
Poltica da Repblica, compete aos Carabineiros do Chile, como Fora de
Ordem, velar pela ordem pblica e segurana pblica interna, em todo o
territrio da Repblica.
Por sua vez, o artigo 1 do Regulamento de Organizao dos
Carabineiros do Chile, assinala que essa uma instituio policial, profissional,
tcnica e de carter militar, cuja finalidade bsica a vigilncia e a manuteno
da segurana e da ordem pblica em todo o territrio da Repblica.
Para o cumprimento de seus objetivos, os Carabineiros do Chile exercem
as seguintes funes: preventiva, de controle da ordem pblica, educativa, de
comodidade pblica, de solidariedade social e de integrao nacional.
Face ao exposto, se pode concluir que cabe instituio tudo o
que estiver relacionado com a preveno e com a ordem pblica, em
todo o territrio nacional, com competncia, dessa forma, em todo
conflito que altere a paz e a tranqilidade da cidadania.
I. BREVE RESENHA HISTRICA E GNESE DO CONFLITO
Produzida a denominada pacificao mapuche, no ano de 1981, o
governo do Chile decide dar um impulso zona recm integrada ao
territrio nacional, para o que entrega terras a chilenos e colonos europeus,
com o intuito de que estes ltimos, com a necessidade que tinham de se
estabelecer e a riqueza de um terreno frtil, conseguissem integrar e
equiparar a regio com o resto do pas.
Tambm entrega terras a comunidades mapuches da rea, mediante
um Ttulo de Merced, que, em muitos casos, com o passar do tempo,
*
Tenente-Coronel dos Carabineros do Chile.
484
vendido aos colonos, reduzindo-se suas propriedades e ficando com terrenos
de pouco valor, o que os leva pobreza. Por outro lado, a explorao
indiscriminada da terra por parte dos colonos, a tornou imprpria para a
agricultura, motivo pelo qual foram vendidas a empresas transnacionais,
que semeiam a zona com espcies exticas (pinus e eucaliptos).
A pobreza e a pouca possibilidade de progredir em terrenos erodidos
e de baixo valor que essas comunidades possuam, j em princpios dos
anos 90, origina o surgimento de organizaes mapuches que comeam
um processo de reivindicao territorial, mediante o uso de mtodos
pacficos, e depois mais radicais, que terminavam em graves alteraes da
ordem pblica, o que obrigou a interveno dos Carabineiros do Chile.
II. CONFLITO INDGENA EM RELAO ORDEM PBLICA E AO
SISTEMA JUDICIAL
Dando cumprimento ao mandato constitucional e legal, os
Carabineiros, desde o incio do conflito, tiveram que atuar, em princpio,
em um cenrio onde as comunidades ingressavam pacificamente em
prdios reivindicados, sobressaindo o dilogo e negociao com a
autoridade, com nossa instituio no centro das conversaes e muitas
vezes sendo seu elo de ligao, propiciando o entendimento.
Devido demora em chegar s solues, toda vez que a recm-
criada Corporao de Desenvolvimento Indgena (Conadi) dava os primeiros
passos no seu processo de aquisio de terras, as organizaes mostravam-
se intransigentes, incitando as comunidades a pressionarem de forma mais
violenta, originando enfrentamentos com a polcia, mediante o uso de
voleadoras, pedras, focos de incndio, molotov e tiros de escopetas.
Tal quadro levou a uma atuao conjunta com juzes do sistema antigo,
os quais inicialmente no tiveram um papel central, o que mudou com os fiscais
do Ministrio Pblico e a chegada do novo processo penal, que proporcionou
mais respaldo para a atuao dos Carabineiros, conseguindo controlar
juridicamente o conflito, buscando fazer prevalecer o Estado de Direito.
Por outro lado, isso levou a uma readequao sistemtica dos
procedimentos em terreno e implementao adequada dos recursos
humanos e materiais, com nova tecnologia, roupa apropriada, veculos,
helicpteros, etc.
Carabineros do Chile como garantia da ordem
pblica no contexto do conflito mapuche
485
III. CURSOS DE AO DESENVOLVIDOS PELA INSTITUIO
PARA CONTROLAR E REDUZIR O CONFLITO
Cumprindo as funes da instituio, foram postos em execuo
diferentes e novos cursos de ao, que permitissem evitar o conflito,
sem ter de chegar ao enfrentamento, tais como:
interao direta com as comunidades em locais de conflito,
onde so desenvolvidas aes para detectar carncias em
reas de sade, educao, servios bsicos de gua e
eletricidade, emprego, melhorias de estradas e pontes,
buscando ser o intermedirio com a autoridade
correspondente que solucionar tais deficincias. A soluo
dessas necessidades acalma a situao, tirando uma varivel
do conflito;
desenvolvimento de operaes cvicas nas comunidades
mapuches, com profissionais da instituio, mdicos,
dentistas, veterinrios, tcnicos eletrnicos, etc;
capacitao do pessoal, por parte de diferentes
organizaes externas, em temas como Tcnicas em
resoluo de conflitos intertnicos, direitos humanos e
povos originrios , gesto intercultural e lngua
mapuche;
gesto junto s empresas florestais, principais oponentes
do povo mapuche no seu processo reivindicativo, para a
implementao de planos de emprego de mo-de-obra
mapuche nas suas diferentes tarefas, com o objetivo de ter
um sustento econmico com a remunerao, e, por outro
lado, desvincul-los de organizaes que os levam por
caminhos violentos para alcanar seus objetivos.
IV CONCLUSO
A experincia adquirida durante os ltimos tempos, com as
estratgias implementadas, conhecimento policial, trabalho de inteligncia
e implementao de engenhosos rumos de ao para reduzir o conflito,
tem obtido resultados bem-sucedidos, conseguindo manter a situao
sob controle.
Hernando Hevia Hinojosa
486
B
R
A
S
I
L
Relato Policial
O MUNICPIO DE RESTINGA SECA E AS
RELAES DE SUA POPULAO COM A POLCIA
CIVIL EM CONTRAPONTO AOS REGISTROS
POLICIAIS REALIZADOS
Jun Sukekava
*
1. INTRODUO
No momento em que a sensao de insegurana se alastra em todas
as comunidades, principalmente em razo da divulgao sensacionalista
de fatos policiais ocorridos nos grandes centros urbanos, a repercusso
dessa sensao ocorre em maior grau nas pequenas comunidades, ainda
mais se ocorre um delito violento que vitima um dos seus componentes.
O fato de a vtima ser conhecida, com histria, familiares na comunidade,
introjeta na populao a sensao de ser a prxima vtima da violncia.
Em municpios pequenos, onde quase sempre deficitrio o nmero
de policiais, quando ocorre esse tipo de delito, ou mesmo para fazer frente
s demandas das ocorrncias policiais corriqueiras, torna-se imprescindvel
que a polcia se torne parceira da comunidade; com os policiais perfeitamente
integrados com ela, ensinando-a que a segurana pblica deve ser
responsabilidade de todos e no apenas dos rgos policiais.
O caso ora em exame refere-se ao municpio de Restinga Seca,
localizado na regio central do estado do Rio Grande do Sul, com uma
rea territorial de 961,80 km
2
, com uma populao de 17.492 habitantes,
sendo que destes, cerca de 40% da populao vive na rea rural
1
. Entre
os dois lados mais distantes do municpio Jacu e localidade de So Jos
h uma distncia de cerca de 70 quilmetros, o que dificulta os trabalhos
de Polcia Judiciria, que necessita de bastante tempo para fazer as
intimaes ou diligncias nesses locais.
Para agravar a situao, nos ltimos anos, ocorreu o pedido de
concordata por parte do maior empregador do municpio uma fbrica
de mveis demitiu cerca de 300 empregados; operando, atualmente, com
133 empregados, incluindo aqueles que trabalham no setor administrativo
- gerando um grave problema social na cidade, o que sempre traz reflexos
*
Delegado de Polcia do Municpio de Restinga Seca.
nos trabalhos policiais
2
.
487
Nos ltimos anos houve um aumento significativo de ocorrncias
policiais, enquanto o efetivo da Polcia Civil no perodo diminui pela metade,
em razo de transferncias, aposentadorias e exoneraes
3
.
Em 2002, foram registradas 753 ocorrncias policiais; em 2003
foram registradas 837; em 2004 foram registradas um 1024; em 2005
foram registradas 970; em 2006 foram registradas 1128 ocorrncias
policiais e neste ano, at o ms de julho j h 733 ocorrncias policiais
registradas. Nesse perodo, o efetivo da Polcia Civil diminuiu pela metade,
uma vez que j trabalhou com um efetivo de seis policiais e, atualmente,
conta com trs, alm da autoridade policial.
Embora o nmero de boletins de ocorrncia no seja parmetro
para aferir os ndices de criminalidade ante a ausncia de pesquisa de
vitimizao, como bem apontou ROLIM (2006, p. 257), nota-se que h
um aumento significativo do registro de ocorrncias policiais aps o
perodo em que ocorreu demisso de grande contingente de trabalhadores
na indstria. E, ainda que no se possa atribuir a isso o aumento da violncia
no municpio ou aumento da confiana da populao nos rgos policiais,
o certo que isso acarreta aumento de trabalho a estes, notadamente
Polcia Civil, que precisa formalizar os boletins de ocorrncia com fatos
criminosos em inquritos policiais.
No se pode atribuir nesse caso uma relao de causa e efeito, que
certamente demandaria um trabalho de pesquisa mais especfico, o que
no o caso do presente trabalho, mas sintomtico afirmar que o
aumento das ocorrncias policiais deu-se em delitos contra o patrimnio.
Segundo CANO e SOARES, citados por CERQUEIRA (2003), se
poderia distinguir as diversas abordagens sobre as causas do crime em cinco
grupos: a) teorias que tentam explicar o crime em termos de patologia
individual; b) teorias centradas no homo economicus, isto , no crime como
atividade racional de maximizao do lucro; c) teorias que consideram o crime
como subproduto de um sistema social perverso ou deficiente; d) teorias
que entendem o crime como conseqncia da perda de controle e da
desorganizao social na sociedade moderna e e) correntes que defendem
explicaes do crime em funo de fatores situacionais ou de oportunidades.
Ora, certamente que o desemprego em massa causado
abruptamente gera ao longo do tempo ao menos algumas das condies
que favorecem a existncia do crime, considerando que h uma perda do
Jun Sukekava
488
poder aquisitivo da famlia (homo economicus) e, conseqentemente, h
maior desagregao familiar (desorganizao social na sociedade morderna)
e, alm disso, a ociosidade leva oportunidade de cometimento de delitos
(fatores situacionais ou de oportunidades).
Para PEZIN (1986) h uma correlao positiva entre urbanizao,
pobreza e desemprego em relao a crimes contra o patrimnio.
Mesmo com todos esses problemas, a populao tem tido com a
Polcia Civil uma relao de compreenso e apoio, o que se pode traduzir da
votao do ltimo Oramento Participativo ocorrido em 2006, em que foram
votadas diversas propostas e a compra de equipamentos para investigao
(filmadoras, pistolas, gravadores) obteve a segunda maior votao, ficando
atrs apenas da compra de equipamentos para o Corpo de Bombeiros
4
.
Acreditamos que essa compreenso se deva ao comportamento
adotado pela Polcia Civil de participar populao as dificuldades de falta
de pessoal e, muitas vezes, at de material, como ocorre em muitos lugares
do pas, sempre prestando conta dos trabalhos desenvolvidos e insero
dos policiais em vrias instncias da comunidade, sempre ressaltando o
papel que cabe a elas de auxlio e preveno da segurana pblica.
No apenas isso, mas no dia-a-dia, o trabalho da Polcia Civil
beneficiado dessa relao de confiana, j que o Servio de Investigao
recebe inmeras denncias annimas que, depois de devidamente
averiguadas, tm sido de extrema importncia na resoluo de crimes
sem autoria. Tambm as intimaes dos moradores de locais distantes
so feitos atravs de convocao pelo rdio e somente em alguns casos
especialssimos estes no comparecem para prestar as suas declaraes.
No pretende esse trabalho demonstrar que os trabalhos de Polcia
Judiciria no municpio resolveram o problema da criminalidade ou mesmo
apresentaram elevadas taxas de elucidao dos crimes sem autoria definida,
alis, deve ser igual ou muito parecido com as taxas de elucidao dos
locais com o mesmo perfil. Todavia, o fato de colocar a comunidade como
parceira da polcia faz com que essa taxa de atrito no seja mais um fator
para aumentar a desconfiana da populao em relao a ela e que encare
a resoluo do problema como seu tambm, da porque os apelos dos
policiais tm encontrado eco junto populao.
O Municpio de Restinga Seca e as Relaes de sua Populao com a
Polcia Civil em Contraponto aos Registros Policiais Realizados
489
2. O RELACIONAMENTO ENTRE A POLCIA CIVIL E AS DEMAIS
INSTITUIES
Essa relao de confiana foi construda com a populao atravs
do relacionamento harmonioso com as outras instituies, principalmente
com o Poder Judicirio, Ministrio Pblico e Brigada Militar, em que h
auxlio mtuo entre os seus integrantes e apesar das independncias
institucionais de cada um, as tomadas de decises mais srias, como, por
exemplo, pedidos de priso preventiva, internao de adolescentes e outras
medidas cautelares so sempre feitas atravs de prvia conversao.
Evita-se, desse modo, que os organismos encarregados da represso
criminalidade passem para a populao que h uma disputa de beleza,
onde se torna muito comum a afirmao de que polcia prende e o Judicirio
solta, ou ainda que a autoridade policial ou o representante do Ministrio
Pblico convoque uma entrevista coletiva para informar que vai pedir a
priso preventiva do suspeito e o juiz e toda a populao, inclusive o
suspeito toma conhecimento desse fato pela mdia.
O relacionamento com a Brigada Militar tambm bastante
harmonioso, onde as duas corporaes se auxiliam sempre e o nmero
reduzido de policiais civis compreendido pelos componentes daquela
corporao, principalmente, no perodo noturno e em finais de semana,
quando os agentes permanecem em casa, em escala de sobreaviso, o que
faz com que os casos de priso em flagrante demorem algum tempo para
serem atendidos e sempre motivo de tenso entre as corporaes,
principalmente nas cidades do interior do Rio Grande do Sul.
Tambm h a participao dos policiais em associaes, conselhos
comunitrios, clubes e sempre que possvel programada palestras em
clubes, escolas ou outros locais de reunies sobre temas atuais relacionados
segurana pblica violncia domstica, atos infracionais dos adolescentes
-, em que sempre ressaltada a eficcia do controle social sobre a
preveno da criminalidade, tendo como paradigma duas pequenas
comunidades quilombolas onde, apesar de serem comunidades carentes
rarssima a interveno policial naqueles locais e, quando acontece,
geralmente, delitos de menor potencial ofensivo, o caso resolvido antes
mesmo do envio do termo circunstanciado ao Poder Judicirio.
De modo no voluntrio, as prticas da Polcia Civil no municpio vm
ao encontro s teses da Polcia Comunitria, qual seja, a relao de confiana
Jun Sukekava
490
entre esta e os cidados, como destaca ROLIM (2006), citando um dos
principais documentos norte-americanos sobre policiamento comunitrio:
A confiana o valor que sublinha e vincula os componentes
das parcerias comunitrias para a resoluo de problemas. A
fundao da confiana ir permitir que a polcia estruture um
forte relacionamento com a comunidade, o que ir produzir
conquistas slidas. Sem a confiana entre a polcia e a cidadania,
um policiamento efetivo impossvel.
5
3. CONCLUSO
O momento atual, no qual a sensao de insegurana atinge a todos
torna imperioso que a questo de segurana pblica no fique restrita
apenas s instituies encarregadas da represso (polcias, ministrio
pblico, poder judicirio e sistema penitencirio), ou seja, no seja tratada
apenas pelo vis repressor. preciso, como afirma GUIMARES (2003)
que seja ensinado para a sociedade enxergar o conjunto das causas que
geram a violncia e, com isso, estabelecer a possibilidade de encontrar as
melhores solues, evitando-se a concentrao em partes isoladas do
sistema e que geradora de incompreenso e soluo inadequada.
Quando a atuao da polcia visa a demonstrar aos cidados a
importncia deles na preveno da criminalidade, com o fortalecimento
das medidas de controle social (escola, famlia, igreja, comunidade) ou
mesmo na resoluo de delitos com informaes, tal parceria
extremamente proveitosa em favor de todos, uma vez que firma uma
relao antes e depois do evento criminoso.
Embora no haja pesquisa nesse sentido, a partir do momento de
implementao dessas prticas, a imagem dos policiais perante a
comunidade no sofreu mudana de opinio
6
e, pelo contrrio, a maioria
dos casos de delitos graves (homicdios, latrocnios, estupros, roubos)
sem autoria foram solucionados e os autores presos, sendo quase a
totalidade deles atravs de denncias annimas feitas pelos cidados, o
que, de certa forma, torna-os co-responsveis por estes atos.
difcil modificar o senso comum da populao de que preciso
buscar alternativas para o combate violncia e criminalidade e que apenas
a represso, ainda mais com o bombardeio miditico quase que dirio de
uma imprensa sensacionalista que prega somente essa alternativa, mas
O Municpio de Restinga Seca e as Relaes de sua Populao com a
Polcia Civil em Contraponto aos Registros Policiais Realizados
491
quando h cooperao dos policiais com a comunidade e vice-versa tal
situao acaba sendo contornada.
preciso, contudo, que a falta de elementos humanos no seja
obstculo para que tambm esse trabalho de represso, quando necessrio,
no seja feito. O problema de conscientizao da populao s ser frutfero
quando no houver passionalidade com relao ao tema.
O trabalho nesse sentido ser longo e haver algumas idas e vindas e
somente se dar com a participao dos policiais agindo como propagadores
dessa idia atravs de palestras, entrevistas e insero na sociedade e, em
locais onde h pouco efetivo desses profissionais, tendo a populao como
parceira, at servindo como informante. No o ideal, mas o primeiro passo.
Notas
1
Conforme dados estatsticos contidos em www.fee.tche.br
2
A indstria em questo pediu concordata e reduziu drasticamente a sua produo, com
demisso de cerca de 2/3 dos seus empregados, tendo tal fato ocorrido no ano de 2004.
3
Dados extrados dos arquivos da DP de Restinga Seca
4
No ano de 2006 a proposta para obteno de equipamentos para a Polcia Civil obteve o
segundo lugar e, neste ano, em votao realizada no dia 22/08/2007, embora sem campanha
com pedido de apoio ou mesmo esclarecimento por parte dos policiais e com pouca divulgao
por parte dos organizadores a compra de equipamentos para a Policia Civil ficou em quarto
lugar, atrs de propostas regionais na rea de educao, sade e esportes
5
Bureau of Justice Assistance, Understanding Community Policing: A Framework for Action.
Monografia, Community Policing Consortium, EUA, agosto de 1994.
6
ROLIM (2006, 100) cita pesquisa realizada em 2000, pelo Ilanud, em So Paulo, em que,
embora a populao considerasse a experincia dos policiais comunitrios como mais educados,
mais prestativos, menos violentos, menos corruptos, tambm eram menos eficientes.
Referncias Bibliogrficas
1. CANO, I.SOARES, G. D., As Teorias sobre a causa da criminalidade, Rio de Janeiro: IPEA, 2002,
mimeo.
2. GUIMARES, Luiz A. Brenner, Prefeitura de Porto Alegre e a Segurana Urbana: uma
forma alternativa e cidad de construir solues para a segurana, Porto Alegre, Prefeitura
Municipal, 2003, p. 69.
3. PEZIN, L. Criminalidade Urbana e Crise Econmica, So Paulo: IPE/USP, 1986.
ROLIM, Marcos, A sndrome da Rainha Vermelha: policiamento e segurana pblica no
Sculo XXI/Marcos Rolim, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., Oxford, Inglaterra: Uiversity of Oxford,
Centre for Brazilian Studies, 2006.
3.www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/resumo/pop impressao
mun.php?malha=nao&nomemunicipio=...23/08/2007
Dados de arquivos de mapas estatsticos mensais da DP de Restinga Seca RS referentes ao nmero
de ocorrncias mensais registradas na DP e as chanceladas registradas na Brigada Militar.
Jun Sukekava
492
P
E
R
U
Relato Policial
ESTRATGIAS DE APROXIMAO COMUNIDADE NO
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PERU
Lucas Nuez Crdova
*
O distrito de Villa El Salvador (VES), cuja populao se aproxima
aos 400 mil habitantes, um dos distritos com maior reconhecimento,
no s no Peru, mas tambm no contexto internacional, ao ter sido laureado
com as premiaes Prncipe de Astrias e Mensageiro da Paz, ambas
em 1987. Em ambas as ocasies pelo fato do mesmo ser um povo
empreendedor e solidrio, que tem primado pelo compromisso e pela
organizao da vizinhana. No entanto, na dcada de 80 e a meados da
dcada de 90, esta organizao da vizinhana foi diminuda e atemorizada
pelo execrvel terrorismo que atingiu o pas por quase 15 anos. assim
que o distrito foi cenrio dos mais execrveis atentados terroristas tais
como, por exemplo, o atentado contra a Comisara
1
do distrito, que
produziu a morte de policiais e civis e a destruio do local policial, e o
assassinato da reconhecida lder da vizinhana, Maria Elena Moyano. Esta
situao facilitou o incremento da violncia urbana gerada pela criminalidade
comum e as gangues, bem como pelo consumo ilegal de drogas.
Nos anos 1999, 2000 e at maro de 2001, trabalhei como
Comisario de VES e, aps interagir com a populao e diversas autoridades,
pude realizar um diagnstico sobre os fatores que incidiam na problemtica
da insegurana no distrito, particularmente no tema da violncia urbana, e
da estratgia que usamos para combater esse dramtico problema.
FATORES QUE INCIDIAM NA PROBLEMTICA DA INSEGURANA
CIDAD NO DISTRITO DE VES
As diferenas entre o partido do governo e o governo local
representado por um outro partido poltico, longe de
harmonizar e articular esforos para enfrentar a criminalidade,
embaavam ou diminuam o pouco trabalho que era feito.
As diferentes autoridades do distrito, como so a
prefeitura, o governo da Polcia Nacional e os outros
representantes das instituies do Estado, agiam de maneira
*
Comandante na Policia Nacional do Peru - PNP, Mestre em Administrao e Cincias Policiais.
Atua na Direo Contra o Terrorismo - DIRCOTE.
493
isolada sem uma concepo clara sobre como enfrentar a
criminalidade e sobre como melhorar os nveis de segurana.
A autoridade municipal, particularmente o prefeito e seus
vereadores (do mesmo partido poltico) no apoiavam o
trabalho na rea de segurana cidad que desenvolvia a
Comisara. Por outro lado era absoluto o compromisso das
organizaes sociais para coadjuvar com o trabalho nesse
sentido; como o caso da Federao de Mulheres de Villa
El Salvador, o Clube de Mes e do Vaso de Leche.
No existia nenhuma pesquisa de vitimizao no distrito que
nos permitisse medir os diferentes tipos criminais ocorridos
no distrito; bem como a subnotificao (cifra oculta).
No existia um registro dos fatos criminosos e menos
ainda uma anlise estatstica sobre a criminalidade no
distrito, nem existia um mapa cronolgico e geogrfico
das ocorrncias criminais.
As lideranas da vizinhana representantes da populao
no tinham nenhuma participao nem protagonismo nas
tarefas de segurana cidad e ainda menos tinham sido
chamadas para enfrentar o problema da violncia urbana.
Entendia-se que o problema da criminalidade era uma funo
e responsabilidade policial; quer dizer, existia um DIVRCIO
ENTRE A AUTORIDADE E O CIDADO. Este
distanciamento foi mais manifesto durante os anos de violncia
terrorista, que afastou ainda mais a polcia de sua comunidade.
As autoridades do distrito estavam contaminadas por
disputas polticas e desenvolviam suas funes de acordo
com as instrues de instncias superiores, o que
obstaculizava o desenvolvimento srio e tcnico de cada
organismo ao mesmo tempo que impossibilitava o trabalho
conjunto e a consecuo de objetivos claros.
No existia iniciativa e, ainda por cima, havia um
desinteresse das autoridades locais em enfrentar esta
problemtica. Estes se concentravam em outras tarefas,
que, embora fossem importantes para a comunidade, no
o eram mais do que o tema de segurana cidad.
Lucas Nuez Crdova
494
Falta de uma legislao imperiosa acorde e coerente para
articular os esforos do Estado, na qual se estabelecesse
como requisito sine qua non a participao da sociedade
organizada.
Quanto problemtica da Comisara, havia carncia de
efetivos policiais, unidades mveis, equipamentos de
comunicao e outros meios que garantissem uma adequada
logstica para melhorar o rendimento policial, bem como
um local adequado para abrigar dignamente os membros
policiais.
Em outras palavras, no existia o menor indicador de se
trabalhar no mbito de uma poltica pblica para enfrentar
o fenmeno da violncia urbana e diminuir gradativamente
os ndices de criminalidade.
ATIVIDADES REALIZADAS PELA A COMISARA DE VES NO
PERODO 1999- 2001.
Em primeiro lugar, se orientou e trabalhou arduamente
para traar pontes de aproximao com a populao,
contando para este projeto com o valioso apoio de
lideranas da vizinhana como: Efran Sanchez Saldaa
(atualmente Tenente Alcalde do distrito), Quintiliano Olivas
Ponce (atualmente Regidor do distrito), os quais junto com
suas polcias, se juntaram ao trabalho de integrar a populao
com sua autoridade policial.
O Comisrio e o pessoal policial participaram das diferentes
reunies covocadas pelos cidados, nas quais era analisado o
problema da insegurana cidad de seus respectivos bairros.
Foram compostos e juramentados 1.200 conselhos de
cidados, nos sete setores que abrangem o distrito. Foram
entregues a seus integrantes suas respectivas credenciais por
parte da Comisara, as quais contavam com coordenadores
e com um coordenador distrital. Nesse perodo, foi eleito
Efran Snchez, atualmente autoridade municipal.
Outra das estratgias desenvolvidas para aproximar a
polcia da sua populao foi potencializar o esporte no
Estratgias de aproximao Comunidade no
Distrito de Villa El Salvador, Peru
495
distrito, instituindo-se no dia 29 de agosto, o Dia da
Bicicleta em Villa el Salvador, cujo objetivo era criar uma
jornada de reaproximao entre pas e filhos, irmos, amigos
e a famlia de VES em geral. Alcanou-se uma maior interao
e aproximao com a populao. Em ambos os anos, houve
uma participao de 2.000 ciclistas; para esse propsito
contou com a colaborao de diferentes meios de
comunicao local, obtendo um grande impacto na
populao. A Polcia Nacional envolveu a suas diferentes
unidades especializadas como so as Unidades de
Emergncia, de Trnsito, Unidade de Ces, a Banda de
Msicos.
Na frente da Comisara se instalou um palanque, com a
presena do Comando Policial, os micro-empresrios de
Villa El Salvador e os coordenadores setoriais do distrito, a
fim de realizar o sorteio de brindes entre os participantes,
sendo premiados os participantes de menor e maior idade
e simbolicamente os microempresrios que apostaram
nessa atividade doando uma srie de presentes os mesmos
que foram entregues aos que ganharam o sorteio. Deve
ser apontado que, na atualidade, a atividade esportiva,
particularmente o Dia da Bicicleta que foi institudo no
distrito no dia 29 de agosto, no est sendo realizada.
Durante a gesto tambm foi gerada e integrada a
participao do Instituto Peruano do Esporte, com a
finalidade de desenvolver um torneio de futebol no distrito,
durante os meses de janeiro e fevereiro (aproveitando as
frias escolares e os meses do vero). Para tanto, foi
conseguido o apoio policial requerido e, para tal, foi
contratada a organizao de vizinhos existente.
Foram chamados os microempresrios do distrito para
que assumissem um papel mais dominante no tema da
segurana cidad. Com o apoio do setor privado, foram
adquiridos oito equipamentos de alarmes e sirenes, cuja
ativao diante de um iminente ou eventual perigo, pode
ser feito com controle remoto e a uma distncia de 140
metros. Estes equipamentos, na sua maioria, esto
localizados em parques ou quadras esportivas dos bairros
Lucas Nuez Crdova
496
que apresentavam maior incidncia criminosa. Por sua vez,
a populao foi organizada e capacitada para organizar
rondas mistas, compostas por cidados e policiais. Esta
aliana permitiu lutar frontalmente contra a criminalidade,
o que levou a que nos anos de 1999 e 2000 a Comisara
Villa El Salvador fosse escolhida como a mais operacional
de Lima e Callao, conseguindo diminuir os nveis de
insegurana e melhorar a aceitao cidad.
Este trabalho permitiu que no ano 2002, a Comisara de
Villa El Salvador fosse premiada como a melhor Comisara
do Peru, de forma tal que os integrantes em seu conjunto
fossem premiados pelo Ministrio do Interior e o alto
Comando Policial com uma gratificao econmica de 100
mil dlares.
A experincia em Villa El Salvador foi um modelo de
aproximao cidad para definir polticas institucionais de
Polcia Comunitria e de organizao de cidados. Nesse
sentido, foi potencializado o trabalho de composio e
capacitao das Juntas de Vizinhos nas diversas Comisaras
de Lima e Callao.
CONCLUSO DA EXPERINCIA NA VILLA EL SALVADOR
A organizao de vizinhos existente no distrito de Villa El Salvador,
que tem sido reconhecida como uma das organizaes sociais mais slidas
e pujantes do Peru, foi a base angular para a composio de mil e duzentas
Juntas de Vizinhos que cumpriram um papel chave na luta contra a
insegurana cidad. A organizao de vizinhos constitui um potencial
impondervel para desenvolver programas e aes conjuntas com a
autoridade, que garantam um trabalho srio e sustentado para diminuir
os ndices de criminalidade no distrito e consequentemente melhorar a
qualidade de vida de sua populao.
Nota
1
N.T. O termo comisara mantido no original em espanhol. Refere-se s unidades
descentralizadas de trabalho da polcia. Da mesma forma, o termo comisaro refere autoridade
responsvel por essas unidades.
Estratgias de aproximao Comunidade no
Distrito de Villa El Salvador, Peru
497
G
U
A
T
E
M
A
L
A
Relato Policial
ESTAO DE POLCIA MODELO
Marlon Esteban
*
Institucionalmente, a partir da criao da Nova Polcia Nacional Civil,
em 1997, em concordncia com um dos Convnios dos Acordos de Paz,
tentou-se concretizar a idia de uma Instituio Modelo, que garantisse a
segurana cidad, tendo como referncia uma Delegacia Modelo.
Esta idia encontrou muitas dificuldades para florescer em sua
capacidade mxima; o sonho teve incio com a construo de um edifcio
para hospedar o pessoal policial na zona 7, e depois no Terminal zona 4 da
cidade de Guatemala, os quais resultaram ser contra-producentes devido
ao trabalho na rea metropolitana ser totalmente diferente do trabalho em
zonas urbanas e rurais departamentais (estaduais), o que dificultou a
adaptao do pessoal no seu crculo de ao. Embora a infra-estrutura tenha
sido adequada, no foi possvel concili-la com pessoal capacitado que
pudesse cumprir com a misso que lhes fora encomendada. Na atualidade,
se denomina delegacia modelo a unidade policial que se encontra
funcionando no municpio de Villa Nueva, a qual tambm enfrenta o problema
de contar com pessoal no capacitado o suficiente para desempenhar tarefas
numa unidade que deveria servir como modelo para outras.
Com base numa resenha histrica, na minha condio de oficial
subalterno, com a firme crena de que fao parte da coluna vertebral da
Instituio Policial, iniciei em 2006 o projeto de dar vida a uma Subestao
Modelo, a qual estaria localizada num dos municpios do departamento
(estado) de Izabal, lugar propcio para colocar em prtica o plano de
trabalho, devido sua semelhana com o mbito social onde me desenvolvi
como pessoa. Dita subestao compreendia, entre suas funes, a
aproximao com a comunidade, para o qual foram empregados diversos
processos, como a organizao dos moradores da comunidade. Neste
caso, a classificao foi feita por setores como, por exemplo, adultos,
jovens, crianas, dentro dos quais existe o gnero feminino que, por cultura,
de alguma maneira, considerado um grupo vulnervel, o que significa
que deve ter um tratamento especial para atender diversidade de
problemas aos quais fica exposto em seu convvio dirio. Assim foram
colocados em prtica os planos de preveno situacional e social, com o
que era cumprido com a participao de todo o conjunto dessa
*
Oficial Segundo da Policia Nacional Civil Subchefe da rea Metropolitana Seo de Delitos
Contra a Vida, Subdireo Geral de Investigao Criminal.
498
comunidade, sem deixar de lado o bem-estar do pessoal policial como
parte da engrenagem polcia-sociedade, que se baseia em estar bem para
servir bem. Inicia-se assim o convencimento atravs do dilogo com os
subalternos para que os meios logsticos obtidos por parte da instituio
fossem otimizados ao mximo com o fim de realizar servios produtivos
e sem a presena de um policial com uma postura no adequada funo
que desempenha. Da mesma forma, no edifcio onde funcionavam as
instalaes se coordenou do jeito mais vivel, o conserto dos servios
bsicos (gua potvel, energia eltrica, instalaes do banheiro), com a
finalidade de que as pessoas se sentissem confortveis no lugar de trabalho
e tambm por ser o lugar onde moram. A inteno era incentivar o
sentimento do pessoal policial de se sentirem pessoas integradas na
sociedade e no Estado da Guatemala, principiando, com isto, o
fortalecimento dos Direitos Humanos de nossos agentes e, como
conseqncia, dos cidados em geral.
No entanto, devido situao Institucional e de superao pessoal
profissional, no me foi possvel cumprir com todos os objetivos traados,
j que no final de 2006, me candidatei e participei do curso de ascenso
ao grau imediato superior -neste caso o grau hierrquico de Oficial
Terceiro - e no incio do ano atual, ascendi ao grau hierrquico de Oficial
Segundo de Polcia; situao que para mim, implicou na transferncia de
meu local de trabalho de forma obrigatria a uma unidade de delegacia, o
que impediu a concluso do projeto de uma Subestao Policial Modelo.
Sem cair no fanatismo, no meu sentimento institucional policial,
encontra-se viva a chama de que, em tempos futuros, e enquanto tenha a
oportunidade de continuar superando-me institucionalmente, poderei
concluir meu objetivo de ter uma unidade modelo, independentemente
da denominao que seja (estao, delegacia, diviso, subdireo), e para
alcan-lo terei que implementar processos para seleo de pessoal e
especializao dos mesmos, em temas relacionados com ateno vtima,
ateno criana e ao adolescente, violncia intra-familiar, e em tudo o
que nos ajudaria a ser uma polcia pr-ativa. Colocaria em andamento
alguns planos que existem atualmente, mas que por falta de vontade poltica
institucional, no recebem o interesse que merecem, como por exemplo,
o Programa Dare, o qual enfoca os centros educacionais em todos os
nveis (fundamental, mdio e superior), para conscientizar os jovens em
Estao de Polcia Modelo
relao ao uso e abuso de drogas, Puerta a Puerta, Me conoces te conozco
499
e daria mais nfase s Organizaes Locais de Segurana, procurando um
equilbrio entre os recursos humanos disponveis e as condies de vida,
referindo-me aqui infra-estrutura das instalaes para obter eficincia na
participao da unidade policial junto sociedade. Nesta ordem de idias,
a partir da minha perspectiva, deve-se contar com unidades independentes
para a ateno e recepo de denncias de acordo com a problemtica
apresentada. Em cada uma destas unidades, deve-se oferecer um ambiente
para prestar servio vtima ou ao denunciante, o ambiente dos
dormitrios para o pessoal deve ser adequado s necessidades bsicas, e
deve-se mudar de alguma forma a carga horria de trabalho, encurtando-
a, com o fim de evitar o tdio e a monotonia na ateno s pessoas e no
cumprimento de um servio com qualidade total.
Marlon Esteban
500
C
O
L
M
B
I
A
Relato Policial
MODELO DE VIGILNCIA COMUNITRIA NA
COLMBIA
Yed Milton Lopez Riao
1
1. CONTEXTO, ANTECEDENTES E FUNDAMENTOS
No marco das transformaes socioculturais e sociopolticas
vivenciadas na Amrica Latina, a discusso sobre a instituio policial cada
vez retoma mais fora, dada a importncia desse rgo como
administrador do servio de convivncia e segurana cidad e sua
adequao para a existncia real da democracia.
Entre os tpicos de maior incidncia nas discusses esto: o
acelerado abandono da tradio militarista, que caracteriza a grande maioria
dos corpos policiais e a recuperao do seu sentido civilista como rgo
vigilante da proteo das liberdades individuais e da vida dos cidados; a
profissionalizao de seus membros; a descentralizao das estruturas de
comando e a aproximao dos ncleos comunitrios, para o conhecimento
das problemticas geradoras de violncia e delinqncia; e a formulao
de alternativas conjuntas de ao para a superao das mesmas.
Na Colmbia, o Plano de Transformao Cultural e Melhoramento
Institucional da Polcia Nacional, transcorrido na ltima dcada, convocou e
envolveu o comando institucional a partir de uma atitude autocrtica. Hoje
no pas se reconhece a liderana da Polcia Nacional na recuperao de sua
imagem institucional, a profissionalizao do talento humano atravs de
processos educativos permanentes para responder s mudanas sociais, a
execuo de projetos como Cultura da Legalidade e Integridade, o
desenvolvimento do programa Departamentos e municpios seguros dirigido
articulao do trabalho com as autoridades civis e o fortalecimento da
Polcia Comunitria, como modo de servio compatvel com a natureza
civilista da instituio.
A Polcia Comunitria como modo de servio, no mbito latino-
americano, responde a um apelo social e a um mecanismo institucional para
o cumprimento das funes policiais, de ordem civilista, com suportes
fundados no Estado Social de Direito. Nesse campo, as experincias de
pases como o Brasil, Venezuela, Bolvia, Equador e Colmbia, entre outros,
*
Polcia Nacional da Colmbia; Bogot d. c.; Assessor de Polcia Comunitria; Direo Geral da
Polcia Nacional
501
coincidem na concepo da Polcia Comunitria como um princpio e atitude
de servio da Polcia comunidade, com a comunidade e na comunidade.
1.1. Premissas da Vigilncia Comunitria
a) A vigilncia o servio que presta a Polcia Nacional, de
forma permanente e ininterrupta, nas cidades, povoados e
campos
1
. Esse servio, de carter ordinrio ou
extraordinrio, prestado no mbito urbano e rural; seu
centro de ateno cada indivduo na sua relao com os
demais sujeitos: ou seja, a convivncia em comunidade.
b) A Vigilncia Comunitria confere continuidade poltica
de participao cidad, instaurada no ano 1993, e de Polcia
Comunitria, promovido desde l998, processos
congruentes com os lineamentos constitucionais tendentes
legitimidade das instituies, descentralizao dos
servios do Estado e participao democrtica como
dinmicas necessrias para o exerccio dos direitos e deveres
no Estado Social de Direito.
c) A Vigilncia Comunitria uma estratgia para fomentar
e alcanar a responsabilidade compartilhada na conservao
da convivncia e na manuteno da segurana cidad, como
ao conjunta entre autoridades civis, autoridades de polcia
e cidadania em geral.
d) A Vigilncia Comunitria o modo da Polcia Nacional
entender e implementar o servio comunidade, de
acordo com seu carter civilista, adotado na Constituio
Poltica Nacional.
e) A apropriao da Vigilncia Comunitria, no presente e
para o futuro, no contexto da situao de convivncia e
segurana no pas, implica uma mudana cultural que est
sendo construda desde os processos de incorporao,
formao nas escolas e administrao do talento humano
em todas as unidades do territrio nacional. Esse parte
do processo que lidera o Departamento Administrativo de
Planejamento Nacional at o ano 2019 no pas.
f) A Vigilncia Comunitria na Polcia Nacional se fundamenta
na formao e disponibilidade de servidores pblicos da
Yed Milton Lopez Riao
502
convivncia e segurana cidad, com capacidade moral, tica
e profissional para compreender suas funes de preveno,
dissuaso e reao, sabendo como aplic-las em cada
contexto, dependendo das circunstncias e dos atores.
g) A implementao do modelo de Vigilncia Comunitria
em nvel local e nacional implica em processos de difuso,
capacitao e aes de interveno social diretamente com
as comunidades, em compromisso direto do governo civil
como gerente e administrador das polticas pblicas de
convivncia e segurana cidad e no exerccio da participao
dos cidados nos assuntos pblicos. Esse modo de trabalho
permite materializar a responsabilidade compartilhada, como
princpio para alcanar todo objetivo social.
h) Na Colmbia, o fortalecimento da Vigilncia urbana e
rural comunitria responde dinmica de adequao da
instituio aos processos sociais em torno da convivncia
e segurana cidad. Embora tenham sido retomados
elementos de Polcia de Proximidade da Espanha e Planos
Quadrantes do Chile, nesta ocasio os esforos se
concentraro no aperfeioamento de um modelo prprio,
para atender s comunidades de acordo com as
caractersticas sociopolticas e culturais, a idiossincrasia dos
diferentes grupos e a disponibilidade de talento humano,
bem como dos recursos financeiros e da estrutura logstico-
tecnolgica do pas e da prpria instituio.
1.2. Antecedentes e Capital Institucional Suporte de Vigilncia
Comunitria
De acordo com as bases fundamentais da Constituio Poltica
Nacional e o processo de transformao cultural e melhoramento
institucional da Polcia Nacional, na dcada de 90, a Polcia Nacional manteve,
dentro do Plano de Direcionamentos Estratgicos, a poltica de participao
cidad, a partir da qual foi possvel a aproximao do servio de convivncia
e segurana cidad com a Comunidade.
O carter civilista da Polcia, atribudo na Constituio Poltica a
partir do ano 1991, motivou a concepo e implementao dos trs
momentos que so apresentados a seguir.
Modelo de Vigilncia Comunitria na Colmbia
503
1.2.1. Direo de participao Comunitria
Essa direo foi criada para fortalecer as relaes entre os cidados
e a instituio, visando a atender aos diferentes interesses setoriais e
regionais atinentes ao servio de Polcia e segurana cidad
2
, materializada
atravs de programas que possibilitaram a participao real dos cidados,
sendo que alguns deles ainda esto vigentes.
1.2.2. Polcia Comunitria
Essa denominao foi socializada institucionalmente no incio do ano
de 1998. A idia se materializou na capacitao e dedicao de um grupo
de policiais, em diferentes unidades do pas, a essa modalidade de trabalho
com a comunidade. Seus contedos iniciais foram inspirados na Polcia de
Proximidade da Espanha e seus processos e procedimentos delineados
atravs de processos educativos, nos quais foram avocados saberes da
sociologia, criminologia e servio social.
1.2.3. Vigilncia Comunitria
De acordo com os resultados obtidos atravs do trabalho da polcia
comunitria no melhoramento das relaes com a comunidade e na
compreenso das problemticas que afetam a convivncia e a segurana,
assim como na adoo de mecanismos para sua interveno, a Polcia
Nacional considera fundamental seguir trabalhando para formar e dispor
de policiais com maiores competncias cognitivas e prticas, que permitam
sua ao qualificada no trabalho com a comunidade.
A expresso vigilncia comunitria engloba toda a polcia e qualquer
polcia, uma vez que: a vigilncia o servio que presta a polcia e sua
forma de faz-lo mediante a aproximao e o trabalho conjunto com a
comunidade, razo de ser desse servio. Dessa forma, fazer vigilncia
comunitria se constitui em um princpio e em uma atitude de todo policial,
independente do servio ao qual pertena.
2. OPERACIONALIZAO DO SERVIO
2.1. Disposio do Talento Humano
Na polcia colombiana, foi implementado um modelo de gesto
humana baseado em competncias e um de seus componentes o
Yed Milton Lopez Riao
504
Desenvolvimento Humano por Competncias, assumido na execuo
do projeto.
No Modelo de Vigilncia Comunitria, parte-se do princpio que
um policial, em qualquer grau, merecedor de s-lo por haver sido
aprovado no processo de seleo e incorporao Instituio e haver
passado pela formao e capacitao em uma escola. Um policial , ento,
um indivduo capaz e competente para exercer sua profisso, e a profisso
de polcia est ligada, sem discusso alguma, ao servio comunidade.
A seguir, veremos um quadro que ilustra o aspecto a ser fortalecido,
perante cada competncia, pelos integrantes da Vigilncia Comunitria:
COMPETNCIA ASPECTO A SER FORTALECIDO EM
VICOM
Habilidade para comunicar-se
Sensibilidade social
Trato amvel e desinteressado
Critrio para identificar problemas,
conceber e executar planos de soluo
Atitude de servio baseada na preveno
Capacidade fsica e mental para dissuadir
e reagir
Iniciativa para detectar problemas e
criatividade para envolver outros atores
na soluo
Domnio e segurana para dirigir e
conduzir grupos
Autoridade por merecimento
Habilidade para distinguir funes
Compromisso e abordagem responsvel
de tarefas
Solidariedade
Pacincia
Prudncia
Capacidade de escuta ativa
Esprito de justia
Imparcialidade e critrio para decidir
2. Efetividade no servio
GENRICA
1. Orientao do servio
comunidade
3. Liderana
4. Trabalho em equipe
5. Resoluo de conflitos
Modelo de Vigilncia Comunitria na Colmbia
505
2.2. Capacitao
O policial de vigilncia comunitria deve ser competente para
desenvolver seu trabalho pelo fato de ser egresso de uma escola de formao
policial, com o titulo de profissional de polcia, indistintamente do nvel,
grau ou escalo. No entanto como forma de reforo ou aprofundamento
de conhecimentos, so sugeridos os seguintes Mdulos Temticos:
I. CONTEXTO ANTROPOLOGICO E SOCIOLGICO
DA CONVIVNCIA E SEGURANA CIDAD.
II. PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PREVENO
NA POLCIA NACIONAL DA COLMBIA, MODELO DE
VIGILNCIA COMUNITRIA.
III. FUNDAMENTAO SOCIOPOLTICA PARA A GESTO
DA CONVIVNCIA E DA SEGURANA CIDAD.
No que refere ao segundo mdulo, PROCESSOS E
PROCEDIMENTOS DE PREVENO NA POLCIA NACIONAL DA
COLMBIA, MODELO DE VIGILNCIA COMUNITRIA, preciso
6. Relaes interpessoais
Respeito ao ser humano
Habilidade para comunicar-se
Amabilidade, afabilidade e empatia
Flexibilidade
Capacidade de ingresso em um tecido social
Tolerncia ante a diferena
Criatividade
Interesse por refletir e documentar
experincias
Interesse pelo estudo, aprendizagem e
capacitao
Curiosidade, iniciativa
Desenvolvimento de capacidades para
caminhar e montar em bicicleta por longos
perodos
Capacidade para correr e/ou responder a
uma reao
Condies de sade apropriadas para o
trabalho em bairros e setores
7. Adaptabilidade
8. Aprendizagem contnua
9. Condicionamento fsico
Yed Milton Lopez Riao
506
mencionar seu contedo como guia para a compreenso geral do mesmo
nesse manual.
2.2.1. Contextualizao da Vigilncia Comunitria
Consiste em localizar o policial no contexto de evoluo de nossa
instituio, abordando temas como a mudana, evoluo das organizaes,
tendncias modernas dos corpos de polcia, histria da Polcia Comunitria na
Colmbia e diferena entre Polcia Comunitria e Participao Comunitria.
2.2.2. Caractersticas do servio
So enfocados os pilares sobre os quais se desenvolve o servio:
preveno, proximidade, continuidade, coordenao interinstitucional, viso
cientfica da segurana cidad, liderana, flexibilidade, conhecimento, cultura
do trabalho e caractersticas prprias do servio, tais como: planejamento
do servio, cumprimento de misso atravs de processos, coordenao
com outros servios de polcia, patrulhamentos a p ou de bicicleta, servio
descentralizado em bairros e setores, autonomia e comunicao.
2.2.3. Modelo de trabalho
Essncia da Polcia Nacional, Segurana Cidad (objetiva e subjetiva),
Convivncia Cidad, modelo causa-efeito, modelo de patrulha de bairro
ou quadrante, metodologias de trabalho (diagnstico, priorizao,
formulao e plano de trabalho).
2.2.4. Processos de Vigilncia Comunitria
Definio de processo, tipos de processos (essenciais e de suporte),
processos preventivos, dissuasivos e de ateno ao cidado. Pasta para
guardar papis da patrulha de bairro, que deve conter as separatas de: 1.
diagnstico, 2. priorizao, 3. formulao de processos, 4. plano de
trabalho, com seus respectivos formatos e anexos.
2.3. Organizao da Unidade Policial
2.3.1. Setorizao
Levando em conta as caractersticas demogrficas e fsicas da rea
urbana de cada populao, cidade ou rea metropolitana, devem ser
Modelo de Vigilncia Comunitria na Colmbia
507
organizados e delimitados quadrantes, que devero obedecer a um critrio
objetivo, levando em conta as seguintes variveis:
Densidade de populao e/ou populao flutuante
Urbanismo
Tipo de uso do solo ou atividade socioeconmica
predominante
Topografia e/ou acidentes geogrficos
Problemtica de convivncia e segurana cidad
Recursos da unidade policial (pessoal, comunicaes,
armamento, habitculos, veculos etc.)
2.3.2. Dotao de Patrulhas de Bairro
Uma patrulha de bairro constituda por dois policiais de vigilncia,
que devem contar com um mnimo de recursos, tais como armamento,
rdio de comunicaes, bicicleta, se possvel, e os demais elementos que
dispe o Regulamento de Vigilncia Urbana e Rural, que lhes permitam
desenvolver um servio de qualidade. A cada quadrante se deve atribuir
uma Patrulha de Bairro.
3. METODOLOGIAS DE TRABALHO
3.1. Diagnstico Geral
um exerccio que nos permite conhecer detalhadamente o
quadrante e identificar sua problemtica, atravs das seguintes atividades:
3.1.1. Reconhecimento do setor
Percurso fsico pelo quadrante, delimitao, descrio morfolgica
ou topogrfica, extenso e consulta memria local e topogrfica.
3.1.2. Captao de informao
Realizao de um censo populacional que permita identificar o perfil
dos habitantes do setor, tendncia econmica, percepo de segurana e
vitimizao, assim como tambm para dar conhecimentos ao policial sobre
a comunidade.
Yed Milton Lopez Riao
508
3.1.3 Identificar fatores geradores de risco
Com formulrio semelhante ao da captao de informao, nos
permite identificar todos os fatores que tenham relao direta ou indireta
com a segurana e convivncia cidad do setor atribudo; podem ser de
carter estrutural ou scio-cultural.
3.1.4. Entrar em contato com autoridades
Em outro formulrio, similar ao dos lderes, se constri a informao
com as autoridades que tm ingerncia no quadrante, cargos, misses e
compromissos com os processos de segurana e convivncia.
3.1.5. Identificar lderes e organizaes cvicas
Atravs de um formulrio, so identificados os lderes, seu perfil,
utilidade e compromissos com a segurana cidad.
3.1.6. Consultar registro estatstico
Consiste em fazer uma anlise do comportamento estatstico do
ltimo ano, em aspectos delitivos e/ou contravencionais, que permitir
ter um critrio de valor para a formulao de processos de soluo.
3.2. Priorizao
Geralmente se observa que o diagnstico elege uma lista considervel
de problemas, os quais devem ser organizados em prioridades, o que nos
indica por onde devemos comear a desenvolver o trabalho.
Os critrios de priorizao so os seguintes:
3.2.1. Por freqncia
Um problema considerado prioritrio por freqncia quando sua
ocorrncia repetitiva, constante e soma a maior quantidade de casos na
estatstica ou na anlise do diagnstico.
3.2.2. Por impacto
Um problema considerado prioritrio por impacto quando no
Modelo de Vigilncia Comunitria na Colmbia
509
diagnstico detectada a ocorrncia (ou possvel ocorrncia) de um
fenmeno delitivo impactante, como terrorismo, homicdio, delitos
sexuais com menores, entre outros.
3.3. Formulao de Processos
Consiste em determinar o processo, ou processos, que utilizar o
policial comunitrio para resolver os problemas detectados no diagnstico,
e que so considerados indicados para serem resolvidos de maneira
prioritria.
A Polcia Comunitria aplica basicamente sete processos essenciais:
1. Diagnstico especfico de segurana e convivncia.
2. Gesto comunitria.
3. Gesto interinstitucional.
4. Educao cidad.
5. Tratamento de conflitos.
6. Dissuaso da infrao.
7. Ateno ao cidado
3.4. Plano de Trabalho
Esses processos se traduzem em feitos tangveis, em aes de
vigilncia preventiva, sempre e quando se organizem em um plano de
trabalho que executado pela patrulha de bairro e seja avaliado
periodicamente pelo comandante da rea.
Cabe ressaltar que o Plano de trabalho realizado por cada patrulha,
de acordo com a problemtica levantada no diagnstico. (ver formato
anexo).
Para ilustrar a compreenso do modelo de Vigilncia Comunitria,
temos a seguir uma analogia com a rea da sade, que, a partir do ponto
de vista de preveno, pouco difere da tarefa de garantir a convivncia e
segurana cidad (sade social).
Yed Milton Lopez Riao
510
POLCIA
(MDICO)
BAIRRO (PACIENTE)
DIAGNSTICO
PRIORIZAO
FORMULAO
PLANO DE AO
PROCESSOS (REMDIOS)
DIAGNSTICO DE SEGURANA CIDAD
GESTO COMUNITRIA
GESTO INTERINSTITUCIONAL
EDUCAO CIDAD
TRATAMENTO DE CONFLITOS
DISSUASO DA INFRAO
QUEIXAS, RECLAMAES E SUGESTES
4. PROCESSOS DE VIGILNCIA COMUNITRIA
A tendncia mundial das organizaes o trabalho por processos,
deixando em segundo plano o trabalho por funes. O processo mostra
ao responsvel a forma mais eficiente de fazer algo e garante o caminho
para a consecuo de um propsito. Um processo um conjunto de
atividades que, ao se inter-relacionarem, em forma lgica e coerente, nos
conduz a um resultado. Na vigilncia veremos duas classes de processos:
essenciais e de suporte.
4.1. Essenciais
So aqueles que conduzem essncia da organizao (negcio
essencial, nesse caso, a convivncia e segurana cidad). Caracterizam-se
por terem contato com o usurio (o cidado) e seu resultado contribui
de forma direta no resultado final que a organizao oferece. Esto
definidos, a seguir, os sete processos que so mais utilizados no exerccio
preventivo da Vigilncia Comunitria:
Modelo de Vigilncia Comunitria na Colmbia
511
4.1.1. Diagnstico especfico de convivncia e segurana cidad:
Esst processo parte de um problema especfico de segurana e/ou
convivncia, encontrado no Diagnstico Geral, e nos permite identificar
suas causas e seus fatores de origem.
4.1.2. Gesto comunitria:
aquele que nos permite envolver e comprometer a comunidade
na soluo de problemas de convivncia e segurana cidad.
4.1.3. Gesto interinstitucional:
aquele que nos permite envolver e comprometer as instituies,
autoridades e organizaes que tenham ingerncia em segurana cidad,
para resolver problemas que no so da competncia da Polcia Nacional.
4.1.4. Educao cidad:
um processo orientado a gerar cultura de segurana cidad,
convivncia, civismo e sentido de pertencimento em bairros e setores,
assim como propiciar na comunidade a auto-regulao.
4.1.5. Tratamento de conflitos:
aquele que nos permite abordar os conflitos e resolv-los ou
encaminh-los s autoridades competentes, com o fim de evitar um
problema maior.
4.1.6. Dissuaso da Infrao:
aquele que nos permite atacar o problema de forma direta, atravs
da presena, patrulhamento, revista, planos intensivos, entre outros.
4.1.7. Ateno ao cidado:
um processo que nos permite conhecer os problemas do cidado
com a instituio ou outras organizaes, escutar suas sugestes e dar
respostas oportunas s mesmas.
4.2. De Suporte
So aqueles que sustentam a organizao, para que se possa levar a
cabo os processos essenciais. Geralmente no tm contato com o cliente
Yed Milton Lopez Riao
512
externo (cidado). Tambm so chamados de processos gerenciais,
administrativos ou logsticos.
4.2.1. Planejamento do servio:
um processo que nos permite organizar, atravs do planejamento,
o servio de Polcia como resposta s necessidades da comunidade, levando
em conta a otimizao do talento humano e os recursos materiais e
logsticos.
4.2.2. Implementao do servio:
Processo destinado a instalar o servio de Polcia Comunitria em
unidades onde no exista, levando em conta critrios padronizados, que
garantam o sucesso da unidade.
4.2.3. Inovao e desenvolvimento:
um processo que permite organizao aplicar melhoramento
contnuo dos processos, crescimento e fortalecimento da Polcia
Comunitria.
Notas
1
Regulamento de Vigilncia urbana e rural para a Polcia Nacional. Resoluo No. 9960 de 13
de novembro de 1992. Ttulo II. Art. 36.
2
Lei 62 de l993. Ttulo V: Sistema Nacional de Participacin Ciudadana.
Modelo de Vigilncia Comunitria na Colmbia
513
B
R
A
S
I
L
Relato Policial
O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DO BAIRRO
DE HIGIENPOLIS, RIO DE JANEIRO -
ORGANIZANDO A SOCIEDADE E QUALIFICANDO
AS DEMANDAS POR SEGURANA PBLICA.
Robson Rodrigues da Silva
*
A rea de policiamento do 22 Batalho de Polcia Militar engloba
os bairros de Ramos, Higienpolis, Benfica, Bonsucesso, e mais o complexo
de favelas conhecido por Mar, do qual fazem parte as favelas do Timbau,
Baixa do Sapateiro, Parque Unio, Nova Holanda, Vila do Joo, Vila dos
Pinheiros, Conjunto Nova Esperana, Nelson Mandela I, II e III, Manguinhos
e uma pequena parte da favela do Jacarezinho. Apesar de no muito
extensa, quando comparada s reas de outras unidades PM da capital
fluminense, ela tida como bastante complexa no sentido operacional, j
que o trfico de drogas ali se entranhou ajudado por fatores geogrficos e
histrico-sociais que propiciaram sua rpida capilarizao. A guerra entre
faces freqentemente levava o pnico, no s s comunidades e aos
usurios de trs das mais importantes artrias virias da cidade que cruzam
aquela rea (Linha Amarela, Linha Vermelha, que liga a cidade ao seu
Aeroporto Internacional, e Avenida Brasil), como tambm aos prprios
policiais militares. Pela insegurana que causava nos usurios, aquela faixa
de artrias era freqentemente chamada de Faixa de Gaza, o que a
aproximava do terror dos territrios palestinos e revelava uma
representao coletiva alicerada numa imensa sensao de medo difuso.
A fim de solucionar o problema, o Governo do Estado do Rio de
Janeiro construiu a nova sede do 22 BPM, agora encravada no corao
do Complexo de Favelas da Mar, quase que exatamente na divisa dos
territrios simblicos de duas das mais poderosas faces do trfico de
drogas do Rio: O Terceiro Comando e o Comando Vermelho. Inicialmente
a ao fez surtir algum efeito, pois houve uma conteno das latentes
invases. No entanto, a fora daquela representao levou a PM
generalizao de que o patrulhamento em locais to deflagrados s
possvel com o uso de tticas de guerra, normalmente utilizadas em
ambiente hostis onde h um alto poder destrutivo por parte do adversrio,
o que eu vou chamar de senso comum policial militar. No pretendo discutir
*
Tenente Coronel da Policia Militar do Estado de Rio de Janeiro, cursando mestrado em Antropologia,
Coordenador dos Conselhos Comunitrios de Segurana do Estado de Rio de Janeiro, no Instituto
de Segurana Pblica ISP.
514
aqui a utilidade de tais estratgias, mas importante ressaltar que essa
representao homogeneizada fez com que a Instituio Policial Militar
no enxergasse outras demandas daquela rea de policiamento.
Quando chegamos para comandar o 22 BPM era essa a situao.
Eu mesmo, como membro da PMERJ, tambm compartilhava dessa
representao. Entretanto a experincia naquela unidade operacional foi
extremamente valiosa e enriquecedora, inclusive por destruir alguns mitos
de nosso imaginrio social. O primeiro deles era o de que as to-exaltadas
reunies com as comunidades, ocorridas no quartel do 22 BPM,
conhecidas como Cafs-Comunitrios e tidas como as das mais
democrticas, no o eram. Explico: o prprio apelido da unidade (Batalho
da Mar) e os motivos para os quais ela havia sido criada faziam crer que
tais reunies eram espaos de dilogo plural, mas, na prtica, somente
participavam deles as comunidades do Complexo da Mar, ou seja, aqueles
atores que se imaginava no possurem voz. Na realidade, eram espaos
destinados a dar voz social comunidade da Mar.
Todavia, a rea do 22 BPM no comporta somente a Mar, mas
tambm outros bairros com demandas especficas e que, pela anlise dos
ndices criminais, apresentavam problemas at maiores, como o roubo e
o furto de veculos, o roubo a transeuntes e o roubo a estabelecimentos
comerciais. Mesmo assim, essas outras comunidades ficavam ao largo
daquele processo democrtico.
Outro mito era o de que ali, naquelas reunies, as corretas aes
dos policiais militares, as que socialmente foram pactuadas na Constituio
Federal, eram aceitas e aprovadas pelos representantes comunitrios, mas
tambm no o eram. Quando cheguei, percebi que ali o assunto do trfico
de drogas, piv da perversa situao em que se encontravam os
moradores, que normalmente ficam no meio do confronto entre traficantes
e policiais, era um verdadeiro tabu. A grande maioria daquelas
comunidades realmente no queria a presena dos policiais do 22 sob
qualquer hiptese - mesmo a legal -, embora o objetivo formal do Caf-
Comunitrio fosse o de aproximar o policial militar de sua comunidade.
Nesse contexto, a aproximao s ocorria, na verdade, entre o BPM e
algumas pessoas das associaes de moradores; ali o significado de
democracia beirava perigosamente o clientelismo e o populismo, com a
presena de lideranas polticas e representantes de ONGs, conquanto
O Planejamento Participativo do Bairro de Higienpolis - Organizando a
sociedade e qualificando as demandas por segurana pblica.
a marca Mar acumula um grande capital poltico.
515
A conteno das hordas de traficantes fortemente armadas ainda
continuava sendo priorizada atravs das tradicionais aes de guerra, e
o ndice de homicdios, inclusive o de policiais militares mortos em combate,
era dos mais altos. No obstante as atitudes arbitrrias de policiais militares
serem reprimidas pelo comando, a medida em que delas fosse tomando
conhecimento nos Cafs Comunitrios, o instinto de sobrevivncia no
permitia que esses agentes pblicos construssem uma rede de
sociabilidade em ambientes que se lhes apresentavam to hostis. Nesse
tom, seguiam as reunies com reclamaes das comunidades e pseudo-
aproximaes, o que em muito lembrava o clssico refro da msica dos
Tits: Polcia para quem precisa de polcia .
Foi ento que, procurando conhecer (agora de uma forma mais
democrtica, no sentido clssico) tambm outras demandas, que se
inserem na funo da Polcia Militar, convidamos representantes das demais
associaes de moradores que no tinham o hbito de comparecer queles
eventos. Isso fez com que os Cafs Comunitrios ficassem agora mais
representativos, inclusive com nova pauta de discusses, onde a presena
policial em seus bairros passou a ser pleiteada. A partir de ento anunciamos
a todos o que passamos a chamar de planejamento operacional participativo,
que consistia na discusso, com os prprios destinatrios do servio de
segurana pblica interessados, a aplicao, em suas localidades, do
policiamento ostensivo, misso constitucional da PM.
Mesmo no havendo muitas inscries para aquela iniciativa ousada,
como era de se esperar, descobrimos no interesse dos representantes
do bairro de Higienpolis a possibilidade de materializar o que muitos
entendem como policiamento comunitrio (eu, particularmente, entendo
como misso constitucional da Policia Militar). Este bairro de classe mdia
baixa fica entre as favelas de Manguinhos e do Jacarezinho e, muitas vezes,
como alguns de seus prprios moradores alegaram, os bandidos que os
assaltavam diziam ser ali o seu shopping-center, tamanha a facilidade
que tinham para ir, buscar o que queriam e voltar para seus redutos. Os
indicadores criminais apontavam naquele bairro uma alta taxa de roubos a
transeuntes e a veculos.
Com este diagnstico, reunimos ento alguns dos oficiais do staff
do 22 BPM, notadamente os encarregados do planejamento, do efetivo
e da logstica, e partimos para o primeiro encontro, anunciado previamente
pela Associao de Moradores de Higienpolis, para acontecer numa escola
Robson Rodrigues da Silva
516
municipal do Bairro. Ele ocorreu no s com a presena dos representantes
da Associao de Moradores, como tambm com a de vrios outros
moradores do bairro que, na oportunidade tomaram conhecimento,
atravs do comando do 22 BPM, tanto dos indicadores estatsticos e
dos limites dos recursos operacionais da PM, quanto da misso daquela
instituio enquanto um direito da cidadania. Foi ento pactuado que seriam
realizadas operaes do tipo A-REP-3 (Blitzens), em locais escolhidos por
eles prprios, aps barganharem entre si a melhor escolha, segundo suas
prprias necessidades; tudo isso levando em conta os limites de efetivo e
viaturas policiais militares. A Associao de Moradores, por seu turno, se
comprometeu a comprar aparelhos de rdio para um contato gil com os
policiais militares que estivessem de servio no local, sendo que,
representando a cidadania, algumas pessoas que moravam em pontos
estratgicos se predispuseram a ser os guardies do bairro,
responsabilizando-se por canalizarem os pedidos e chamarem os policiais
no caso de suspeio de ilicitude.
Os recursos eram os mesmos que j haviam sido disponibilizados
anteriormente para aquela localidade, mas o novo policiamento, agora
legitimado pela participao dos moradores, fez com que houvesse um
rpido decrscimo das taxas criminais. A satisfao dos moradores coroou
de xito aquela ao conjunta, cuja rapidez, confesso, chegou mesmo a
me espantar. Para tanto, uma questo gerencial foi fundamental: a motivao
dos policiais. Antes havia um rodzio muito grande entre os policiais
militares que trabalhavam no setor de policiamento que cobria o bairro
de Higienpolis. O local no era prioridade do Batalho, segundo a
representao da guerra, e quase sempre os policiais eram deslocados
para outras misses mais importantes, sacrificados nos apoios a outras
unidades. No havia, portanto, identificao e nem compromisso dos
policiais com os moradores locais. A partir de ento, foi enfatizada a poltica
da negociao entre os interesses do policial militar e os interesses
institucionais. Partiu do comando o compromisso de no serem mais
deslocados para outras misses, desde que atendessem aos moradores
em suas demandas por segurana pblica e, consequentemente,
reduzissem as taxas criminais. Com esse intuito, eles foram apresentados
aos moradores como os novos companheiros do bairro, havendo uma
identificao mtua que viabilizou o xito do planejamento. Posteriormente,
outras reunies de ajuste foram realizadas, onde se pde perceber a
incluso de novas categorias tcnicas no discurso dos moradores como,
O Planejamento Participativo do Bairro de Higienpolis - Organizando a
sociedade e qualificando as demandas por segurana pblica.
517
por exemplo, indicadores de violncia, mancha criminal, taxas de
criminalidade, segurana pblica, policiamento ostensivo etc.
Havia, no entanto, ainda muita resistncia por parte de boa parcela
de policiais militares, inclusive de oficiais mergulhados numa cultura
institucional que tende a valorizar aes tradicionais em detrimento das
que poderiam estar fulcradas numa racionalidade policial militar
democrtica, onde atravs da criatividade profissional os objetivos gerais
da PM, estabelecidos na carta magna, pudessem ser alcanados com menor
esforo dos recursos pblicos. Tudo leva a crer, portanto, que o projeto
no teria um futuro promissor dentro daquela cultura institucional.
Posteriormente, fui movimentado para uma outra unidade, de onde
no pude mais acompanh-lo, mas mesmo assim a experincia valeu para
mostrar que sua aplicao plausvel.
Robson Rodrigues da Silva
518
E
L
S
A
L
V
A
D
O
R
Relato Policial
A ORGANIZAO DOS COMITS LOCAIS DE
PREVENO DA VIOLNCIA E DELINQNCIA
EM EL SALVADOR
Hugo Armando Ramrez Meja
*
INTRODUO
A experincia descrita faz parte de um trabalho que desde 2004
vem sendo feito pela Polcia Nacional Civil de El Salvador; esta experincia
consistiu em oferecer s instituies governamentais e no governamentais,
Conselhos Municipais, ONGs e OGs, entre outros; que de alguma maneira
participam do desenvolvimento econmico, poltico e social em nvel local,
uma estratgia vivel para se organizar de forma efetiva e poder, de uma
forma consensual, praticar uma abordagem integral para o tratamento da
violncia social que atinge a cidadania.
No o propsito desta iniciativa que a proposta se torne uma receita
rgida, j que a adequao e/ou modificao da mesma depende da realidade
local, do nvel de organizao cidad, do sentido de identidade, e da sensao
de pertencimento que existe entre estas e as instituies, organizaes
governamentais e no governamentais que tenham projetos sociais.
No entanto, era nosso propsito que as aes que
empreendssemos e fossem executadas fossem para o benefcio da
cidadania e perdurassem no tempo; estas deveram ser desenvolvidas numa
ordem prioritria, privilegiando os processos de preveno de todas
aquelas condutas que resultem na minimizao da violncia e delinqncia
com foco sobre a proteo dos segmentos mais vulnerveis (infncia,
juventude, mulher, idosos e populao com necessidades especiais).
OBJETIVOS
Geral
Organizar um frum de anlise (comit), que articule o
conhecimento e tratamento integral das causas que geram os problemas
*
Subinspetor, Chefe da Diviso de Servios de Juventude e Famlia da Policia Nacional Civil de El
Salvador
da violncia e delinqncia em nvel local.
519
Especficos
a. Que as diversas instituies, setores, organizaes comunitrias,
ONGs, OGs participem de forma efetiva na identificao de necessidades,
interesses e problemas que afetam de forma direta e indireta o
desenvolvimento: cultural, educativo, de lazer, poltico e econmico da
populao em nvel local.
b. Que as diversas instituies, setores ou organizaes em
coordenao com autoridades municipais de nvel local desenvolvam
atividades que mitiguem a problemtica local.
c. Que as autoridades locais, em coordenao com as demais
instituies, organizaes e setores desenvolvam atividades que permitam
minimizar os fatores de risco e potencializem os fatores de proteo,
implementando para isso efetivos programas de preveno da violncia e
delinqncia.
INCIO DO PROCESSO
O processo teve incio articulando reunies com autoridades dos
conselhos municipais, de instituies governamentais e no-
governamentais, expondo o problema da violncia e delinqncia do
municpio, as projees institucionais e o modelo de organizao, focando
como, a partir da sua prpria experincia, era possvel melhorar a situao.
(O modelo foi concebido para ser levado frente pelos prefeitos dos
municpios)
Sustenta-se, embora de forma emprica, a tese de que a abordagem
e minimizao dos nveis de violncia e delinqncia so uma
responsabilidade compartilhada da sociedade em seu conjunto. Essa
sustentao tinha como base os seguintes elementos.
a. Evitar a disperso de esforos institucionais, setoriais e
organizacionais.
b. Conseguir uma efetiva economia de recursos: humano,
material e financeiro.
c. Dar uma resposta integral e integradora aos problemas
locais.
Hugo Armando Ramrez Meja
520
d. Focalizar aes consensuais com a comunidade.
e. Fomentar uma cultura de paz atravs da convivncia em
harmonia.
f. Fomentar a responsabilidade cidad atravs da
compreenso e aplicao de direitos e deveres.
MUNICPIOS ONDE A EXPERINCIA FOI IMPLEMENTADA
1. Prefeitura de Soyapango
2. Prefeitura de San Salvador, Distrito N 1
3. Lourdes, Coln
4. Zacatecoluca
PASSOS PARA A ORGANIZAO DO COMIT LOCAL.
A seguir os passos que foram dados para organizar os comits:
PASSO 1. Seleo de um/a lder (consistiu em envolver
diretamente o prefeito municipal ou seu representante na
conduo do esforo)
PASSO 2. Organizao de secretarias (Educao,
Cultura, Lazer e Esportes, Sade e Meio Ambiente,
Emergncias, Emergncias Municipais e Segurana Cidad)
PASSO 3. Coordenador por projeto (cada uma das linhas
de trabalho foi presidida por um especialista, EX; Em
Sade, um mdico; em Segurana Cidad, um oficial
da polcia)
PASSO 4. Manual de Organizao e funcionamento
(foi elaborado um documento onde se definiu a organizao
e as funes dos agentes que a compuseram)
PASSO 5. Manual de Procedimentos (foi elaborado cada
um dos procedimentos para tornar o comit operativo)
PASSO 6. Ata de Constituio e Regulamento Interno
(buscou-se a inscrio legal do Comit diante dos
organismos correspondentes para dar vida legal e facilitar
a gesto)
A Organizao dos Comits Locais de Preveno da Violncia e
Delinqncia em El Salvador
521
OBJETIVOS ALCANADOS
1. Elevar os nveis de organizao nos municpios e comunidades
2. Pr na agenda das diferentes instituies governamentais e no
governamentais e setores que tm presena em nvel local o tema da
segurana humana: uma responsabilidade de todos
3. Desenvolver diagnsticos situacionais sobre a realidade social em
trs municpios; Soyapango, Coln e Distrito N1 da prefeitura de San Salvador.
4. Elaborao de planos de ao em consenso com cidados e
representantes das instituies participantes.
5. Executar algumas aes pontuais para minimizar os fatores de
risco (campanhas de vacinao, coleta de lixo, campanhas para divulgar
os direitos e deveres dos cidados, campanhas nos centros educativos
para evitar que os jovens entrem nas gangues, entre outros)
PROBLEMAS NA SUSTENTAO DO MODELO
1. O alto nvel de polarizao poltica
2. A disputa por liderana impediu o consenso (embora todas as
agendas dos participantes incluam aes de preveno)
3. A pouca compreenso de alguns setores participantes em relao
a aes de preveno da PNC (uma alta porcentagem da populao s
atribui a funo de represso do delito instituio policial)
4. Os projetos sociais implementados pelo Executivo detm um
alto grau de interesses partidrios, o que gerou desconfiana nos municpios
governados pela oposio e vice-versa.
5. A baixa crena dos chefes policiais na funo de preveno social
da violncia, preferindo a represso ao delito.
LIES APRENDIDAS
1. possvel alcanar a organizao da comunidade sempre que e
quando forem levados em conta os atores principais em nvel local.
Hugo Armando Ramrez Meja
522
2. difcil instalar um modelo de preveno da violncia e
delinqncia se no existirem polticas de Estado reais, ainda mais quando
em nvel local no existe um envolvimento real dos conselhos municipais
na co-responsabilidade e viabilidade das polticas.
3. possvel alcanar a integrao sociocomunitria na medida em
que os jovens e suas famlias se integram no ambiente natural onde vivem
cotidianamente.
4. Embora o modelo tenha sido desenhado para ser desenvolvido
com recursos prprios dos envolvidos, necessrio contar com a ajuda
de organismos nacionais e internacionais.
5. A rotatividade do pessoal policial dificulta a continuidade das aes
programadas.
CONCLUSO
O modelo vivel. E pretende se enraizar no local. Essa opo
de trabalho supe, mas no limita participao do governo municipal da
regio na qual ser implementado o modelo. Busca-se, e h princpios de
consenso, que supe a participao de Governos Municipais (convnio
COMURES PNC), falta definir as modalidades operativas nas quais se
expressar sua participao.
Tambm possvel entender este modelo de trabalho no sentido
da busca de vnculos com outros atores locais, entidades de servio da
localidade, instituies educativas presentes na regio etc.
A Organizao dos Comits Locais de Preveno da Violncia e
Delinqncia em El Salvador
523
N
I
C
A
R
G
U
A
Relato Policial
O CONTROLE SOCIAL E A POLCIA: ALIANA
CONTRA O TRFICO ILCITO DE ARMAS DE FOGO
Xavier Antonio Dvila Rueda
*
INTRODUO
Geralmente, o problema da delinqncia e o crime organizado se
conceituam como problemas a serem resolvidos pelos corpos policiais.
Por isso, no de se imaginar que a cidadania exera um controle social
ativo, sistemtico e relevante nesses temas. Menos imaginvel ainda que
seja a Polcia Nacional que promova e gere condies para que a
comunidade exera o controle social sobre as aes policiais e sociais
para a preveno do delito.
Por essa ocasio, resolvemos apresentar a experincia recente da
Nicargua, que ilustra o modelo de Polcia Comunitria Pr-ativa que
desenvolvemos ao longo dos ltimos 28 anos, e que se baseia precisamente
numa aliana permanente e estratgica entre a instituio policial e a
sociedade, com o fim de exercer o controle social.
Ns, nicaragenses, estamos construindo a segurana cidad, mo
a mo, vencendo dificuldades, gerando sinergias institucionais e
comunitrias. Para isso, fortalecemos cada dia mais a aliana entre a Polcia
e a Comunidade e promovemos a auditoria social para avaliar e gerar
mudanas que nos permitam um maior desenvolvimento, assim como
alcanar novos patamares.
O MODELO POLCIA COMUNITRIA PR-ATIVA: ANTECEDENTES
DE ORIGEM
A Polcia Nacional da Nicargua, desde sua fundao em setembro
de 1979, assumiu como princpios fundamentais: o servio comunidade
e ao humanismo. Para assegurar organicamente o servio comunidade
criou-se uma funo de vnculo permanente com a comunidade que
denominamos Chefe de Setor, um funcionrio (a) policial designado
para atender um setor territorial que populacionalmente corresponde a
cinco mil habitantes em mdia. A misso do Chefe de Setor representar
o sistema policial numa comunidade determinada, conhecer seus problemas
*
Comissionado Major, Diretor de Armas e Explosivos Polcia Nacional de Nicargua
524
e necessidades de segurana cidad, gerir a resposta policial, promover a
organizao comunitria para gerar uma resposta social ao problema e
trabalhar conjuntamente com a comunidade no desenvolvimento local.
At a data, as comunidades se apropriaram deste sistema. Exigem e
reclamam a presena e o bom desempenho do Chefe de Setor, se fazem
ouvir atravs deste funcionrio (a), trabalham em conjunto buscando solues
sociais para os problemas de segurana cidad, motivam e demandam aes
das entidades pblicas que devem intervir na situao e das entidades privadas
locais que possam contribuir para o desenvolvimento social e econmico.
O desenvolvimento desta experincia se deu gerando reformas
organizacionais no sistema policial, condicionadas pelos momentos
histricos, as mudanas sociais, polticas e econmicas na sociedade
nicaragense, as quais abordamos a seguir.
O MODELO POLCIA COMUNITRIA PR-ATIVA: DESCRIO
o procedimento para dispor os servios policiais ao servio da
comunidade para a identificao de problemas e a abordagem conjunta dos
mesmos, em busca da preveno do delito, da segurana humana e da ordem.
um desenvolvimento constante das capacidades, aptides e
habilidades mediante a capacitao e preparao contnua, criando
competncias para a soluo de problemas ligados preveno policial e
social, promovendo a gesto comunitria e interinstitucional.
O pr-ativismo se considera como sendo a preveno policial em
que prevalece o sistema pr-ativo sobre o reativo, o que requer um policial
bem informado e capacitado para prever situaes delitivas, facilitando
com sua atuao a soluo de problemas antes que estes apaream,
existindo coordenaes entre as unidades, respondendo de maneira rpida
e eficaz s necessidades da cidadania, sendo facilitadores na resoluo de
problemas sociais, em que o cidado a razo de ser e para o qual se
deve prestar o servio policial.
Faz-se nfase em processos de inteligncia policial, como um sistema
mediante o qual todos e cada um dos integrantes da Polcia geram
informao (atravs da comunidade, contatos com a populao etc.) e
O Controle Social e a Polcia: aliana
contra o trfico ilcito de armas de fogo
depositam a mesma num banco de dados da unidade. Sendo processada,
passa por tratamento administrativo, operativo e de retroalimentao.
525
Aplica-se como mtodo de gesto e tomada de decises um
processo que denominamos Mtodo dos 6 pontos:
Ponto 1 INSUMOS: Consultas e consenso em nvel local para
priorizar e hierarquizar os problemas da comunidade e
alternativas de solues possveis, melhorando o conhecimento
dos lderes locais sobre as responsabilidades da instituio em
sua competncia.
Ponto 2 ESTRATGIA: Com as consultas e consenso o chefe
deve elaborar uma Estratgia de interveno que envolva todo
o sistema policial.
Ponto 3 PLANEJAMENTO: Determinar objetivos, metas e
aes pertinentes para dar soluo aos problemas identificados
como prioritrios pela populao.
Ponto 4 AO: Execuo das aes de forma sistmica,
desenvolvendo comunicao efetiva vertical e horizontal,
compartilhando experincias, alinhadas com metas institucionais
e da comunidade.
Ponto 5 COMUNICAO: Divulgao dos resultados do
processo de trabalho atravs da comunicao interna e externa.
Ponto 6 RETROALIMENTAO: Processo mediante o qual
socializamos os resultados esperados e trocamos experincias,
conquistas e dificuldades para a melhora contnua.
Este modelo est em processo de melhora contnua, sua aplicao
est condicionada pelas capacidades instaladas em cada jurisdio policial.
Em algumas delegaes policiais sua aplicao parcial, atendendo aos
recursos disponveis e complexidades do entorno.
EXPERINCIA DE CONTROLE SOCIAL SOBRE AS ARMAS DE FOGO
1. Contexto da experincia
a) A Lei especial para o controle e regulao das armas de fogo,
explosivos, munies e outros materiais relacionados de recente
promulgao (2005), pelo que se requer criar condies na sociedade
Xavier Antonio Dvila Rueda
(conhecimento, sensibilizao, compromisso) para sua aplicao cidad.
526
b) O propsito institucional da experincia que apresentamos se
define como divulgao direta da Lei de Armas aos Comits de Preveno
Social do Delito existentes nos Departamentos de Mangua, Masaya e
Granada, e para obter um diagnstico da problemtica social e delitiva
que geram as armas de fogo, explosivos, munies e outros materiais
relacionados nessas localidades.
c) O propsito comunitrio se define como avaliao do
desempenho da Polcia Nacional e estabelecimento de demandas de
Segurana Cidad.
2. Estratgia de interveno
a) Contratao de uma empresa consultora que organize e execute
a interveno com perfil civil e enfocada em temas de segurana cidad e
preveno social, para que documente os resultados.
b) Organizar eventos de comunicao participativa entre a Polcia
Nacional e as comunidades, atravs das organizaes comunitrias existentes
que trabalham o tema de segurana cidad (Comits de Preveno Social
do Delito). Estes eventos foram definidos como Grupos Focais.
3. Metodologia
a) A Delegao de Polcia local convoca uma reunio entre os
Comits de Preveno Social do Delito do setor geogrfico de seu
interesse para abordar o tema.
b) O tema se organiza mediante um programa indutivo que vai
gerar interesse e participao das pessoas participantes:
1. A Polcia Nacional expe a situao delitiva relacionada a
armas de fogo
2. A Polcia Nacional expe os principais temas da Lei de
controle de armas que interessa divulgar com prioridade.
3. A empresa consultora gera a troca de opinies sobre
cada um dos temas de maneira participativa e produtiva.
Neste processo se evitou a influncia e o vis que pudessem
exercer os oficiais de polcia, limitando-os a responder
aspectos especficos do interesse dos participantes.
O Controle Social e a Polcia: aliana
contra o trfico ilcito de armas de fogo
527
4. As pessoas presentes expressam seus pontos de vista,
sua definio dos problemas, suas demandas e prioridades,
e recomendam estratgias para superar os problemas.
RESULTADOS OBTIDOS
Os principais problemas identificados pela comunidade so expressos
da seguinte forma:
Existncia de armas fabricadas artesanalmente por jovens que se
renem para alterar a ordem pblica e gerar violncia juvenil.
Uso indevido de armas de fogo por pessoas com licena de porte de
armas, disparando, alterando a ordem pblica e expondo pessoas ao perigo.
Guardas de segurana de Empresas Privadas de Vigilncia apresentam
desempenho negligente e alguns agem em cumplicidade com delinqentes.
Existe comercializao de produtos pirotcnicos margem da Lei,
em lugares no autorizados (mercearias ou comrcios de bairro), e venda a
menores de idade.
Roubos utilizando armas de fogo em alguns lugares de uso pblico
como parques, entorno de bares e entrada a distritos.
A comunidade perdeu a confiana no desempenho policial devido s
fragilidades na preveno, relacionadas com a inexpressiva presena policial,
fraca capacidade de resposta s denncias e alta rotatividade dos oficiais com
bom desempenho.
A delinqncia tem mais recursos do que a Polcia Nacional.
O organismo comunitrio apresenta um baixo nvel de organizao e
se sente sem proteo para agir em apoio Polcia Nacional.
Fabricao de produtos pirotcnicos em lugares inadequados
(moradias e fbricas de tortilhas) e seu uso imprudente por pessoas que
organizam eventos pblicos e por cidados comuns em famlia.
No uso de explosivos industriais, as exploses danificam propriedades
e provocam danos sade nas comunidades ao redor.
Xavier Antonio Dvila Rueda
528
Uso indevido de armas de fogo em zonas rurais, realizando caa
de animais em lugares que a Polcia no tem capacidade de vigiar.
Grupos delinqentes vindos de fora realizam roubos utilizando
armas de fogo em moradias, veculos e comrcios.
Pessoas portam armas de fogo durante festas religiosas.
Excesso de venda e consumo de bebidas alcolicas geram fatores
de risco no uso indevido de armas de fogo.
As empresas privadas de vigilncia no provm a capacitao
adequada de seus guardas de segurana, o que tem permitido que os
guardas transgridam a Lei.
Comercializao de produtos pirotcnicos em lugares no
autorizados tais como mercearias (comrcios de bairro) e queima de
plvora negligente, que coloca em risco a vida de pessoas e, em alguns
casos, tambm de animais.
AES E ESTRATGIAS PROPOSTAS PELA COMUNIDADE
Identificar e aplicar a Lei nas oficinas que fabricam armas artesanais.
Descobrir as pessoas que tm armas artesanais para confisc-las e
aplicar as sanes correspondentes.
Intensificar a vigilncia e presena policial nos lugares com tendncia
ocorrncia de delitos, modificando a ttica de interveno e
implementando unidades mveis de preveno.
Orientar o trabalho de preveno social a eliminar as condies
que facilitam a atividade delitiva, tais como: lugares sem iluminao, terrenos
abandonados, venda e consumo de lcool etc.
Superar as fragilidades locais na relao polcia e comunidade.
Exercer controle social sobre pessoas que tm condutas indevidas
fazendo uso de armas de fogo.
Melhorar a resposta policial ao chamado de emergncia.
Melhorar o sistema de superviso interna da Polcia Nacional,
apoiado pela comunidade.
O Controle Social e a Polcia: aliana
contra o trfico ilcito de armas de fogo
529
Avaliar sistematicamente o desempenho dos guardas de segurana,
de forma conjunta entre polcia e comunidade.
Melhorar os critrios de seleo e contratao do pessoal que
integra as empresas de segurana privada, estabelecendo um controle
cruzado entre Polcia e Comunidade. Particularmente, incidir na capacitao
sobre a Lei de Controle de Armas de Fogo.
A polcia e a comunidade promovero a divulgao e publicidade
pertinente das leis, utilizando os meios de comunicao social.
Facilitar informao que possibilite Polcia Nacional prevenir e
sancionar a fabricao e uso de armas artesanais.
Intensificar a vigilncia e a presena policial nos arredores de bares,
parques e entrada de distritos, exercendo controle sobre grupos de pessoas.
Orientar o trabalho de preveno social a incidir sobre pais de
famlia, para que exeram sua autoridade sobre seus filhos jovens, e
responsabilizar os tutores sobre danos que ocasionem os menores de
idade, implementando como sano o trabalho comunitrio.
Recompensar os chefes e oficiais da polcia que fazem um bom
trabalho com a comunidade e ampliar capacidades em delegaes, segundo
o crescimento populacional em municpios e comunidades.
Apoiar um oramento maior para a Polcia Nacional que permita
uma maior presena preventiva, a criao e fortalecimento de delegaes
em distritos e bairros.
Revisar e ajustar o papel dos organismos comunitrios e fortalec-
los para que permitam um melhor desempenho em sua funo de
preveno social do delito.
Desenvolver campanhas de comunicao e capacitao para a
populao em matria de preveno social do delito.
Desenvolver uma campanha educativa em conjunto entre Polcia e
Comunidade para sensibilizar fabricantes de produtos pirotcnicos,
cidados e, especialmente, as crianas e os pais de famlia.
Criar pontos de venda autorizados, selecionando os lugares em
conjunto pela Polcia e a Comunidade.
Xavier Antonio Dvila Rueda
530
Inspecionar estes lugares e aplicar a Lei.
A Polcia Nacional deve regular a potncia e as condies adequadas
para efetuar as exploses industriais.
A Polcia Nacional deve exigir a divulgao da programao de exploses
para favorecer a superviso de autoridades comunitrias.
Intensificar a vigilncia e controle de porte de armas de fogo em via
pblica.
Exercer um controle social sobre os estabelecimentos que vendem
bebidas alcolicas, a fim de evitar excessos na venda.
Desenvolver uma campanha para evitar o consumo excessivo de lcool.
A Polcia Nacional deve ser mais exigente no cumprimento dos
requisitos para autorizar o funcionamento de empresas de vigilncia privada
e supervisionar sistematicamente o desempenho dos guardas de
segurana.
CONCLUSES
1. A problemtica de segurana cidad entre uma localidade e outra
no necessariamente a mesma, e se algum fator se repete, este no tem
a mesma dimenso nem a mesma prioridade na demanda social em ambas
as comunidades.
2. Se no existe uma comunicao e relao sistmica entre polcia
e comunidade, a polcia no pode conhecer com preciso a situao de
segurana da populao, nem suas expectativas. Muito menos haver uma
participao social ativa na construo da segurana cidad.
3. A sinergia criada no trabalho conjunto entre polcia e comunidade
permite um impacto decisivo no bem-estar local.
4. O enfoque de trabalho local facilita as operaes policiais e a
ao social.
5. possvel aplicar a preveno social em temas complexos como
o trfico ilcito de armas de fogo.
O Controle Social e a Polcia: aliana
contra o trfico ilcito de armas de fogo
531
B
R
A
S
I
L
Artigo
POLCIA E JUVENTUDE NA ERA DA
GLOBALIZAO
Profa. Dra. Alba Zaluar
*
INTRODUO: O CRIME NEGCIO GLOBALIZADO
A globalizao tem sido analisada e avaliada em seus aspectos
ambivalentes e paradoxais. A extensa rede de comunicao no planeta, a
rapidez e o alcance com que produtos, idias, modelos e pessoas viajam
tm contribudo para diminuir o desconhecimento dos outros, criando
assim mais condies para o hibridismo cultural, que o Brasil conhece
desde o sculo XVIII, e para uma cultura cosmopolita em que a
multiplicidade de culturas locais seja aceita no cenrio mundial sem ser
esmagada pelos mecanismos da uniformizao cultural. Alm disso, o
respeito aos direitos civis e humanos passaram a fazer parte de uma arena
planetria, observado nos quatro cantos do mundo.
Mas h o lado escuro da globalizao. O domnio da lgica do
mercado sobre as demais instncias da vida social e poltica, a diviso de
naes, grupos e pessoas entre vencedores e perdedores fazem da
competio uma inexorvel e interminvel atividade humana. O jogo soma
zero que se segue afeta no apenas os sistemas de proteo social j
estabelecidos, mas tambm a vida pessoal de cada ser humano.
Mas o efeito da globalizao que mais claramente aponta para o que
faz regredir o processo civilizatrio tem sido pouco explorado nas
conexes com o que se poderia chamar o crime-negcio global, cujos
principais setores so: o trfico de drogas e de armas no mundo.
Entre criminlogos, um lugar comum dizer que o trfico de drogas
ilegais, tendo sido institudo como crime, tornou-se uma atividade
econmica transnacional com conexes nos negcios legais e formais. De
fato, alguns de seus efeitos s so entendidos quando se tomam as relaes
simbiticas entre diferentes atores que tm interesses comuns e formam
um tecido social, econmico e institucional bem entrelaado. Este tecido
compe o que deve ser considerado como o elemento sistmico que
existe, no interior e fora das naes, nas redes transnacionais das atividades
econmicas criminosas, que negociam inmeras mercadorias ilegais (Van
*
Professora Titular de Antropologia do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, coordenadora do Ncleo de Pesquisas sobre as Violncias (NUPEVI/IMS/UERJ).
www.ims.uerj.br/nupevi
532
der Veen, 1998). O mercado das drogas ilegais particularmente importante
no Brasil porque ele que vai afetar a vida dos jovens vulnerveis, especialmente
os de sexo masculino. Por isso, o foco aqui o comrcio de drogas e armas.
Outra afirmao disseminada entre criminlogos a que se refere
ao processo de globalizao, nem sempre esclarecendo a dinmica que
conecta as atividades ilegais ao sistema financeiro voltil e transnacional
bem como aos valores e prticas sociais que permitem a reproduo
dessas atividades. Os princpios do mercado invadem ainda mais
avassaladoramente aquelas formaes sociais em que instituies so
corporaes fechadas de pouca legitimidade e onde tradies morais no
demonstram capacidade de resistir s imposies, armadilhas e tentaes
do novo e rpido mercado global. No s a volatilidade e a rapidez do
mercado financeiro internacional facilitam as manobras para a lavagem do
dinheiro ganho em atividades ilegais diversas, como a prpria cultura
empresarial se modifica. O objetivo deixa de ser poupar para investir, e
passa a ser o de ganhar dinheiro facilmente, e de qualquer maneira, para
consumir de modo hedonista (Sassen, 1991; Castels & Mollenkopf, 1992).
Outro autor assinala que a concepo de futuro foi alterada pelas incertezas
do novo ambiente econmico e os medos despertados pela competio
onipresente e infindvel entre naes, grupos e pessoas. Em vez de poupar
para investir no futuro, gastos consumistas com o dinheiro de plstico, o
ubquo carto de crdito (Bauman, 2007).
Valores culturais modificados acompanharam tais mudanas nas
formaes subjetivas: valores individualistas e mercantis selvagens se
disseminaram durante os anos setenta e oitenta em pases como o Brasil,
traduzidos pelas expresses corriqueiras fazer dinheiro fcil e tirar
vantagem de tudo, tambm prprios desta nova fase do capitalismo
globalizado. Ou seja, a sociedade brasileira, pode-se dizer, sofreu o impacto
da colonizao pelo mercado e passou a carecer dos limites morais
usualmente fornecidos pelo social e pelo institucional consolidado, e ficou
despreparada para enfrentar os novos desafios de uma economia que
tornou mais informal, precrio e desprotegido o trabalho presente, ainda
mais incerto o futuro.
Como uma atividade ilegal e invisvel, o comrcio de drogas faz
parte deste novo ambiente social, econmico e cultural. Foi, portanto, o
prprio capitalismo na era da globalizao que favoreceu, estimulou e criou
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
533
uma nova cultura que afeta desde os empreendedores econmicos de vrios
nveis at o mais reles consumidor dos muitos novos bens ofertados, legais
e ilegais, com as facilidades da rapidez das conexes internacionais.
Mas so os atores no varejo do trfico, que ficam na ponta final das
extensas redes de envolvidos nessa atividade econmica, os que continuam
sendo o alvo principal das polticas de segurana pblica repressivas levadas
a cabo nos estados brasileiros.
EFEITOS DA POLTICA REPRESSIVA NO BRASIL
No Brasil, comeou-se tardiamente a investigar e a conhecer a
proviso de drogas ilcitas ou a fora organizacional das redes de traficantes,
principalmente suas conexes com a economia e as instituies legais.
Apesar da expanso do poder de Estado e dos fundos para o controle
pblico destas aes durante os anos oitenta, s muito recentemente
deu-se ateno aos interesses econmicos e polticos conectados
economia da droga, particularmente as interaes cuidadosamente tecidas
entre o mundo visvel e o invisvel, o legal e o ilegal, os setores formais e
informais da economia. Em outras palavras, se bem que a Polcia Federal
tenha examinado o crime organizado nos ltimos anos, a Polcia dos estados
da Repblica Federativa do Brasil, suas polcias civis e militares, intervm
principalmente na represso violenta das favelas e dos bairros pobres nas
regies metropolitanas e capitais.
Sem conhecer os meandros e as redes das atividades econmicas
ilcitas e, muito menos, sem entender os efeitos dessa nova cultura nas
prticas sociais dos jovens que entram ou convivem nos pontos de venda
das drogas, ou seja, nas formaes subjetivas por eles internalizadas nos
ltimos 30 anos, os resultados das polticas de segurana tm sido pfios.
Os primeiros permitiram desmantelar as redes de operao,
infringindo golpes mais contundentes nas atividades em questo e
diminuindo seus atrativos financeiros e polticos, o que deveria ser
implementado principalmente a nvel federal e interestadual. As segundas
ajudariam a pensar em projetos de preveno mais eficazes, com um
melhor convvio, ou mesmo cooperao entre as polcias estaduais e os
moradores das vizinhanas dominadas pelos traficantes de drogas do
pequeno varejo. Estas deveriam ser a principal transformao na forma
. Alba Zaluar
534
de agir das polcias militar e civil em cada estado brasileiro. No adianta,
porm, implementar projetos modelos em uma comunidade apenas.
preciso que tais projetos atinjam todas as reas das cidades que se
encontram dominadas por traficantes armados, cada vez mais tirnicos
para com os moradores locais.
AS ATRAES DO CRIME NEGCIO
Em contexto de pouco desenvolvimento econmico, ou mesmo
de des-industrializao como acontece nas maiores cidades brasileiras,
mais pessoas podem vir a ser atradas ao arriscado crime-negcio e passar
a organizar suas aes de modo a obstruir a deteco e a acusao judicial,
seguindo o jogo sujo e necessariamente violento das atividades fora e
contra a lei. Sua ilegalidade suscita extrema violncia em alguns setores,
especialmente o do trfico de drogas no varejo. Os que ocupam posies
estratgicas nas grandes redes de conexes transnacionais podem ter
rpidos ganhos devido a uma combinao de poucos limites institucionais
e morais, com a conseqente corrupo que atinge as instituies
encarregadas de coibir o crime. Localmente, eles fomentam prticas
subterrneas e violentas de resoluo de conflitos e de luta perene pelo
controle do comrcio e as posies de poder: as ameaas, a intimidao,
a chantagem, a extorso, as agresses, os assassinatos e, em alguns pases,
at mesmo o terrorismo.
No falta no Brasil, o que Becker chamou de motivao de um ato
desviante, derivada de uma situao na qual o agente social no aceita a
ordem social ou o atual estado do jogo social e poltico, ou ainda se revolta
contra ele. No que a pobreza explique o ato desviante, mas ela pode, em
conjugao com as falhas do Estado na criao de possibilidades de
ascenso social ou de aquisio de respeito, s quais deve se adicionar a
nova cultura hedonista que faz parte da cultura jovem, facilitar a adeso s
prticas de uso de drogas ilcitas, tidas como sub-culturas marginais. Sub-
culturas ou no, grupos de usurios se formam e so importantes na medida
em que sabemos ser o ato desviante ou a repetio dele uma decorrncia
do aprendizado no grupo social de desviantes do qual o jovem vem a
fazer parte. Este pertencimento vem a gerar uma srie de atitudes, valores
e identidades que podem se cristalizar e, tambm por criar laos reais de
amizade, domnio ou dvida, dificultar o rompimento com o grupo,
portanto com o prprio desvio.
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
535
Mesmo onde tais atividades ilegais surgiram de uma revolta contra
a discriminao e a desigualdade nas oportunidades que o mercado legal
oferece, as conseqncias principais das atividades transgressoras da lei
so: 1) criar vtimas entre possveis concorrentes, tornando o mercado
ainda mais discriminador e desigual; 2) tornar a vida de todos nas vizinhanas
onde atuam seus protagonistas, e no apenas do pequeno nmero destes
protagonistas, muito mais difcil e cruel; 3) fazer surgir novos e inesperados
atores interessados em manter a ilegalidade pelas vantagens dela retiradas,
at mesmo os encarregados de reprimi-las no sistema de justia,
especialmente em pases de fraca institucionalidade como o Brasil; 4)
ameaar a organizao, a governana e um dos princpios bsicos da
existncia do Estado de Direito: o monoplio legtimo da violncia,
contestado pelo uso de armas modernas e potentes nas mos dos
integrantes de quadrilhas e comandos.
ENTENDENDO O CRIME NEGCIO LOCALIZADO
Mesmo admitindo que a pobreza impe dificuldades no viver que
propicia a marginalizao do jovem, preciso nunca perder de vista que
a categoria pobre altamente diferenciada. Os efeitos combinados da
pobreza e da urbanizao acelerada, sem que houvesse um
desenvolvimento econmico necessrio para oferecer emprego urbano
aos migrantes e aos trabalhadores pobres, no so suficientes para
compreender os conflitos armados que matam homens jovens. Portanto,
deve-se discutir como a pobreza e a falta de emprego para os jovens
pobres se relacionam com os mecanismos e fluxos institucionais do sistema
de Justia na sua ineficcia no combate ao crime organizado, bem como
os efeitos da globalizao da cultura sobre as tradies locais.
Tampouco a urbanizao muito rpida, alm de no garantir emprego
para todos os migrantes e, depois, para os seus filhos, no permite que as
prticas sociais urbanas da tolerncia e civilidade sejam assimiladas entre
os novos habitantes das cidades. Entretanto, por conta dos processos j
mencionados de crise da autoridade e de difuso das novas identidades e
estilos juvenis globais, rapidamente corri os valores morais tradicionais,
j no mais interiorizados pelas novas geraes da cidade.
Assim, muitos homens jovens e pobres se tornaram vulnerveis s
atraes do crime-negcio por causa da desorganizao em suas famlias,
. Alba Zaluar
536
muitas delas incapazes de administrar os conflitos surgidos na vida urbana
mais multifacetada e imprevisvel. Pais ausentes que no protegem, no
educam e no prestam ateno na companhia dos filhos so pais
inadequados. Polticas pblicas que juntam jovens que j praticaram atos
delinqentes sem faz-los entender a dimenso dos seus atos e o
sofrimento que provocam nas vtimas esto destinadas ao fracasso por
estarem facilitando a dinmica do contgio de idias e comportamentos
violentos. E a favela ou o bairro pobre, evidentemente, seria o local propcio
para a sua propagao por isolar uma populao que apresenta um
percentual alto de famlias com paternidade falha, alm de servios
pblicos, como escolas, de pior qualidade, mas principalmente pelo
policiamento inadequado e uso excessivo da fora.
Jovens de famlias com renda abaixo do nvel da pobreza tornam-
se vulnerveis por conta de uma combinao do abismo entre adultos e
jovens, do sistema escolar ineficaz, da falta de treinamento profissional,
com os postos de trabalho insuficientes, acrescidos das miragens das
identidades globais e do mercado onde se compete sempre para separar
vencedores e perdedores. Foi isto que apresentei como os
argumentos para sustentar a idia de integrao perversa ao sistema
econmico (Zaluar, 2004), formada na vinculao em posies menores
no trfico de drogas.
Os mercados informais sempre existiram no Brasil, e constituram
uma fonte de renda importante para os com pouca qualificao ou
desempregados. Estes mercados criaram redes e regras para organizar o
comrcio de artesanatos e a produo caseira nas principais ruas dos
maiores centros urbanos. Entretanto, nas ltimas dcadas, as ruas foram
ocupadas pelos vendedores ambulantes de objetos roubados de
caminhes, de residncias e de passantes. Teria sido mera coincidncia,
ou a prpria dinmica do trfico de drogas informal e ilegal estendeu para
outras redes o recebimento dos produtos roubados com o objetivo de
criar a liquidez para comprar novas doses da desejada droga?
O comrcio informal, tradicionalmente uma sada para o
desemprego e o trabalho subalterno, tornou-se misturado com
empreendimentos econmicos criminosos, tais como o roubo de vrios
bens utilizados como moeda para comprar drogas e seus precursores
(Zaluar, 1994; Geffray, 2001). Ferros-velhos, ourivesarias, oficinas
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
537
mecnicas e antiqurios viraram centros de receptao e, algumas vezes, de
lavagem de dinheiro. Usurios entrevistados e os que escreveram biografias
depois de tratados mencionam o fato de que, quando muito fissurados,
levavam os objetos roubados imediatamente para a boca de fumo e se
conformavam em receber uma quantidade de drogas muito inferior ao preo
que poderiam obter nos centros de receptao (Pinheiro, 2005).
Todavia, isto no se passa sem estratgias eficazes de corrupo
dos agentes da lei. Sem isso, no seria possvel compreender a facilidade
com que armas e drogas chegam at as favelas e bairros populares do Rio
de Janeiro (Zaluar, 1994; Lins, 1997), nem como as mercadorias roubadas
- automveis, caminhes, jias, eletrodomsticos -, usadas na troca com
as drogas ilegais, chegam com facilidade ao seu destino final no Paraguai e
na Bolvia, passando pelo interior de So Paulo (Geffray, 1996).
Uma vez dentro de grupos criminosos, jovens, destitudos ou no,
ficam merc das rigorosas regras que probem a traio e a evaso de
quaisquer recursos, por mnimos que sejam. Entre esses jovens, no entanto,
so os mais destitudos que portam o estigma de eternos suspeitos, portanto
incriminveis, quando so usurios de drogas, aos olhos discriminatrios
das agncias de controle institucional. Com um agravante: policiais corruptos
agem como grupos de extorso, que pouco se diferenciam dos grupos de
extermnio formados com o objetivo de mat-los. Quadrilhas de traficantes
e assaltantes no usam mtodos diferentes dos primeiros.
Todas as entrevistas feitas com os jovens envolvidos pelas quadrilhas,
em Cidade de Deus, conjunto habitacional popular no Rio de Janeiro, pela
equipe de pesquisa que coordenei entre 1987 e 1991, mencionaram o
mesmo esquema de extorso e terror da parte de policiais da regio e a
imposio de traficantes para que os pequenos ladres dividissem o produto
de seu roubo (Zaluar, 1994; Lins, 1997). Tornar-se membro da quadrilha
passa a ser imperativo, ou para pagar dvidas, ou para se sentir mais forte e
mais protegido frente aos inimigos criados. Se entra, o jovem se inicia no
circuito infernal de ter que andar sempre armado para no ser morto, que
os jovens de Cidade de Deus denominavam condomnio do diabo.
De fato, o comrcio de drogas tornou-se sinnimo de guerra em
muitos municpios do Brasil, mas com diferenas regionais entre cidades
e entre bairros na mesma cidade. No Rio de Janeiro, mesmo que no
Alba Zaluar
538
completamente coordenado por uma hierarquia mafiosa, o comrcio de
drogas tem um arranjo horizontal eficaz pelo qual se faltam drogas ou
armas de fogo em uma favela, esta imediatamente as obtm das favelas
aliadas. As quadrilhas ou comandos conciliam os dispositivos de uma rede
geograficamente definida, que inclui pontos centrais ou de difuso, com
outros que se estabelecem na base da reciprocidade horizontal.
Nesta cidade, as armas de fogo so mais facilmente obtidas por
causa dos portos e vrios aeroportos assim como os mais importantes
depsitos de armamentos das Foras Armadas que esto dentro do seu
territrio. Muitos furtos ocorreram e continuam ocorrendo em tais
depsitos. Conseqentemente, o trfico de drogas tornou-se mais
facilmente militarizado.
Basta ler os jornais brasileiros para saber que os comandos
inimigos disputam violentamente o territrio onde controlam os negcios,
e probem os moradores das reas inimigas de cruzar os limites do seu
permetro, at mesmo para visitar amigos ou parentes. por isto que
favelados, de alguns bairros da cidade, falam de uma guerra interminvel
que ope traficantes pertencentes a comandos inimigos ou policiais versus
traficantes. Nesta guerra, no somente os membros das quadrilhas, mas
tambm os jovens que vivem nas mesmas favelas ou em favelas amigas,
so obrigados a ajudar cada vez que os traficantes locais ou aliados so
atacados por inimigos. Os soldados do trfico ou falces formam
ento um bonde, ou elo que responder ao ataque do outro bonde,
constitudo da mesma maneira. Por isso, os vizinhos no tm permisso
de cruzar as fronteiras artificiais entre as favelas. Muitos homens jovens
foram mortos apenas porque passaram de um setor a outro comandado
pelas redes beligerantes do trfico. Mesmo para trabalhar, mesmo para
se divertir no baile. Algumas mulheres tambm foram mortas por ousarem
namorar homens de favelas inimigas.
Quando os soldados so chamados pelos donos do trfico, este
chamado dirigido aos jovens que conseguiram ultrapassar os
regulamentos existentes hoje nas Foras Armadas brasileiras para evitar
recrutar jovens de favelas. Eles foram treinados durante o servio militar,
ainda obrigatrio. Mesmo quando no fazem parte das quadrilhas, estes
jovens so convidados a montar e desmontar as armas automticas
exclusivas das Foras Armadas e roubadas de seus depsitos; so chamados
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
539
a instruir os novos soldados do trfico a enfrentar os inimigos quando a
favela onde vivem invadida pela polcia ou uma quadrilha rival. Eles devem
aceitar o convite no tanto porque so pressionados, mas porque se
sentem obrigados a colaborar com a quadrilha que controla o bairro onde
moram. De todo modo, eles sabem que, em caso de recusa, pagaro um
preo, tanto no plano moral como no fsico: perdero o conceito ou a
considerao junto ao dono do morro; sero expulsos da favela; ou,
pior, executados (Zaluar, 2001).
Em algumas regies pobres da cidade, os comandos que controlam
os morros dividiram militarmente no apenas as favelas, mas tambm as
ruas prximas. preciso prestar ateno para no cair nas mos de inimigos
ou, como eles dizem, de alemes. Alm disso, as ruas so pouco iluminadas
e a polcia no vai ali seno em raras patrulhas ou blitzen. Por isso, os
traficantes das favelas reinam sem muitos problemas nas ruas dos bairros
mais longnquos. Trata-se, para eles, de impedir fornecedores
independentes de droga de vender sua mercadoria ali ou de mostrar seu
poder de fogo. Quando o proprietrio dos morros avista um vendedor
no autorizado, ameaa-o. Se este ltimo insiste, e confronta a quadrilha,
morto. No se pode vender drogas sem ser autorizado pelo dono. Se o
traficante ou o policial corrompido suspeita que os bandidos menos
importantes esto ganhando muito dinheiro, estes podem passar pela
experincia de serem agredidos, torturados ou extorquidos. A situao,
como dizem, fica sinistra. Eles podem ser mortos por um ou por outro.
Nessas reas pobres da cidade controladas por traficantes, o uso
da arma de fogo corriqueiro como meio de manter o domnio do
territrio, cobrar dvidas, afastar concorrentes e amedrontar possveis
testemunhas
1
. Compreende-se, assim, porque jovens pobres matam-se
uns aos outros devido a rivalidades pessoais e comerciais, seguindo o
padro estabelecido pela organizao que, alm de criar regras militares
de lealdade e submisso, distribui fartamente armas de fogo automticas
e semi-automticas, exclusivas das Foras Armadas.
No se trata, pois, de guerra civil entre pessoas de classes sociais
diferentes ou mesmo uma ntida guerra entre polcia e bandidos. Nestas
mortes, os jovens pobres no esto cobrando dos ricos, nem esto
perpetrando alguma forma de vingana social, pois so eles as principais
vtimas da criminalidade violenta, seja pela ao da polcia, seja dos prprios
Alba Zaluar
540
delinqentes. Vivem, de fato, segundo as regras da reciprocidade violenta
e da vingana privada pela ausncia de uma instncia jurdica na resoluo
de conflitos internos e do vigor de uma cultura cidad. Tais conflitos
armados podem ser mais bem entendidos como guerras moleculares,
localizadas, mas sem fim.
HIPERMASCULINIDADE E VIOLNCIA
De uma dinmica da economia informal transfigurada em ilegal,
cristaliza-se a cultura de rua violenta. Segundo um autor que estudou
esta cultura nos Estados Unidos da Amrica (Bourgois, 1996), os
milhes de dlares dos negcios na rua, no bem estimados, tornaram-
se a estratgia masculina mais visvel publicamente ou uma alternativa
para a dignidade pessoal autnoma. Disso resultou uma cultura de
rua de criatividade explosiva e desafiadora, como resposta e em
oposio excluso social.
Mas h outra interpretao que ressalta o carter violento desta
formao subjetiva. No contexto do conflito armado e de muito
dinheiro no bolso, propiciado pelo trfico de drogas, desenvolve-se o
estilo de masculinidade definido como o da hipermasculinidade
exibicionista, exagerada, na qual os homens se permitem demonstrar
o que um autor denomi nou exi bi o espetacul ar de protesto
masculino (Connel, 1987, 1995). So homens que no puderam
construir a identidade masculina como os tradicionais operrios pelo
trabalho, pela educao, pela propriedade e pelo consumo de bens
durveis, coisas que um emprego de trabalho manual permitiam at
meados do sculo passado. Segundo o mesmo autor, esses homens
tornam-se ameaa para a vizinhana em que vivem e o Estado os
estigmatiza porque o seu comportamento conspcuo; eles se tornam
criminosos por causa da identidade de gnero construda assim.
Ora, no Brasil, crianas e adolescentes morrem numa guerra
pelo controle do ponto de venda, mas tambm por quaisquer motivos
que ameacem o status ou o orgulho masculino dos jovens em busca de
uma virilidade - do sujeito homem (Alvito, 1996; Lins, 1997), orgulho
que obriga resposta violenta ao menor desafio. Ou simplesmente
porque estavam l no momento do tiroteio. Na circularidade do bolso
cheio de dinheiro fcil que sai fcil do bolso, ficam compelidos a repetir
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
541
sempre o ato criminoso, nas suas palavras, como se fosse um vcio
2
.
Desenvolvem igualmente um estilo de chefia truculento, que aproxima
a quadrilha da gangue americana. Para segurar uma boca de fumo, o
chefe no pode mais vacilar, ou seja, trair, hesitar ou ter medo na
hora da luta contra rivais, comparsas, clientes em dvida ou alcagetes
(Lins, 1997). A figura do chefe ou do homem de frente construda
imaginariamente como aquele que mantm os seus comandados na
linha, controla o crescimento dos seus concorrentes nas vendas ou no
nmero de pessoas armadas na quadrilha.
No Rio de Janeiro, como em toda parte, so muitas as arenas
de conflito e muitos os estilos de masculinidade entre os migrantes de
outros estados, entre os jovens da segunda gerao de migrantes, entre
os jovens negros, pretos, pardos, mulatos, cariocas ou descendentes
de nordestinos e mineiros. Entre os que pertencem s camadas mais
pobres da populao, mesmo assim seguem diferentes trajetrias. Para
uma minoria, a possibilidade de enriquecer rapidamente e, assim, ter
acesso ao consumo conspcuo um importante elemento para definir
as novas identidades masculinas bem sucedidas. Ajudar amigos, vizinhos
e parentes, impressionar a todos com a exibio de jias e roupas
dispendiosas no seu prprio corpo, com festas e pagamento de bebidas
a todos em locais pblicos, so parte dessa estratgia do macho
dominante em muitas sociedades, inclusive a brasileira.
Por isso mesmo, os gastos dos jovens traficantes so muito
individualizados e orgisticos. Financiamento de bailes funk, orgias em
motis, consumo conspcuo de roupas, bebidas, drogas e festas para
parentes, amigos e aliados. Dizer que substituem o estado ausente em
poltica social leviandade intelectual fruto de observaes ligeiras e
secundrias. Comando sobre o dinheiro, comando sobre o territrio,
comando sobre os liderados, comando sobre as mulheres cobiadas:
isso que define o traficante duro bem sucedido.
AS POLCIAS E AS ARMAS
Exemplos do funcionamento da rede que aporta armas s
quadrilhas que atuam no varejo nas favelas do Rio de Janeiro, repetidos
no pas, apontam para o paradoxo do monoplio legtimo da violncia
no Brasil. Policiais corruptos levam armas exclusivas das Foras
. Alba Zaluar
542
Armadas brasileiras at os comandos e quadrilhas de traficantes, o
que torna factvel um estado de guerra permanente pelo controle dos
pontos de venda e dos terri tri os urbanos assi m control ados
militarmente. Estas mesmas armas vo matar policiais que fazem a
represso s atividades ilegais das quadrilhas
3
. Por fim, em decorrncia
da insegurana que se estabelece nas vizinhanas controladas por
traficantes e policiais corruptos, que espalha em toda a cidade a falta
de confiana na instituio policial, formas de segurana privada se
espalham para proteger aqueles que podem pagar ou que so obrigados
a pagar, como acontece quando esta segurana privada ilegal, caso
das milcias surgidas nas reas de ocupao mais recente da cidade.
Na esfera institucional, est, pois, o mais terrvel paradoxo: a
mesma polcia repressiva que, pelos depoimentos tomados em 25 anos
de pesquisas de campo das quais participei, fornece armas e munies,
muitas exclusivas das Foras Armadas, aos traficantes que passam a
controlar militarmente territrios incrustados nas favelas do Rio de
Janeiro. As favelas e seus arredores tornam-se parte das reas quentes
da ecologia do perigo e da violncia, socializando jovens no desejo e no
manejo das armas de fogo, elementos-chave da nova cultura de rua.
Do mesmo modo que o uso das drogas, o porte de armas de
fogo tambm se explica pelo contexto scio-cultural dos pequenos
grupos a que pertencem os jovens que seguem os valores e prticas
desta cultura de rua. Outros estudos, sobretudo os feitos nos Estados
Unidos, apontam o grupo de pares como o maior preditivo de
delinqncia entre homens jovens, especialmente os crimes violentos
mais graves e o hbito de portar armas (Myers et.al., 1997). A famlia
poderia influir direta ou indiretamente, mas a rede de relaes do
jovem com outros jovens de sua idade ou com jovens de idade superior
que aparecem como mai s i mportantes para se entender o seu
comportamento. Os que portam armas constituram 20% da amostra
de adolescentes negros entre 12 e 15 anos entrevistados. Estes jovens
mencionam 19 vezes mais do que os que no portam armas que tm
colegas tambm portadores de armas de fogo (ibidem).
Tais estudos procuram entender porque jovens que, de outra
maneira no andariam armados, passaram a faz-lo para evitar serem
vitimizados pelos seus pares armados, para impor respeito e para
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
543
gozar do prestgio adquirido com a posse de armas (Fagan, 2005).
Pois, mais do que uma inclinao natural dos homens jovens pobres
violncia, o que explica o aumento da taxa de homicdios nos locais
onde vivem a alta concentrao de armas nestes locais. isso que
cria o que o criminologista Jeffrey Fagan da Universidade de Columbia
chamou ecology of danger. Depois de entrevistar 400 jovens nas
vizinhanas mais perigosas de Nova Iorque, descobriu que a violncia
se expandiu entre 1985 e 1995 pelo contgio de idias e posturas.
Nas vrias pesquisas de campo que realizei com meus assistentes no
Rio de Janeiro, tambm sempre foi assinalada, desde 1980, a facilidade
e a quantidade de armas disponveis para os jovens moradores das
favelas tidas como perigosas.
Ao concentrar o olhar sobre as condies atuais de vida dos pobres,
no se pode deixar de registrar a ausncia e o estilo de policiamento mais
violento e mais corrupto nos bairros e favelas onde os pobres vivem. Pesquisa
de vitimizao recente realizada no Rio de Janeiro (Zaluar, 2006), revela
que a Polcia Militar, a que faz o policiamento ostensivo, est muito mais
ausente nos bairros e favelas onde moram os mais pobres da cidade e que
esto sob o controle de quadrilhas de traficantes. Ao mesmo tempo, ela
muito mais violenta nessas mesmas reas, especialmente nas favelas que
abundam nos subrbios, como (o bairro de) Madureira, ou na regio da
Tijuca, conhecidas como santurios do trfico. Nessas favelas, os policiais
atiram 10 vezes mais do que nas reas regulares do asfalto e agridem duas
vezes mais os moradores.
Dados dessa pesquisa domiciliar de vitimizao
4
so reveladores sobre
os impasses e paradoxos impostos ao policial. Considerando que esta
ao advm de um mandato outorgado s organizaes para garantir a
segurana da populao, o fracasso em garanti-la est criando novos
problemas que ameaam paralisar as polcias estaduais no Brasil.
Os dados sobre os crimes comuns (furtos, roubos e agresses fsicas)
cometidos contra os moradores da cidade no diferem muito dos
encontrados em outros lugares do mundo e so at menores do que muitas
cidades brasileiras. O risco depende muito mais do estilo de vida (se sai
noite, se anda de transporte coletivo) do que da idade ou do sexo. Homens
e pessoas jovens so mais vitimados porque saem mais noite e andam
durante a semana na rua ou em coletivos.
Alba Zaluar
544
Quanto aos percentuais de confiana na Polcia, tem-se um
indicador da cifra oculta da criminalidade, aquela que no aparece nas
estatsticas oficiais. Por exemplo, 71,4% das pessoas roubadas no
procuraram a polcia; apenas 28,5% procuraram. Os que no
procuraram, deram como razo, principalmente, a falta de informaes
para dar ao policial (37,9%) - ou porque no ia adiantar, por ser muito
difcil recuperar objetos roubados de pouco valor (18,4%), aos que devem
ser adicionados os 8,4% que afirmaram no valer a pena registrar o roubo.
Somados, so 64,7% os que percebem mais problemas tcnicos do que
de confiana na polcia. H tambm uma proporo de pessoas maior
(10,8%) do que a encontrada no furto que afirmou no ter procurado a
polcia por medo de sofrer represlias pelos autores do roubo, j que a
violncia est envolvida nesse crime. Expressaram razes vinculadas
desconfiana os que afirmaram que temiam perder tempo sem serem
atendidos (7,9%), os que disseram expressamente no ter confiana na
polcia (5,7%), no conhecer ningum influente dentro da corporao
(0,1%), os que desconfiavam que policiais estivessem envolvidos no roubo
(0,3%), ou ainda saber que as pessoas no eram bem tratadas por eles
(0,8%), que somados chegam a 14,7%, percentual igualmente pequeno
considerando as altas propores dos que, em outra pergunta, no avaliaram
bem o trabalho policial.
AGRESSO POR PM
Nos dados sobre as experincias e a avaliao que a populao de
15 anos ou mais tm sobre as polcias, o quadro difere substancialmente
do encontrado em outras cidades brasileiras e no mundo.
A agresso fsica perpetrada por policiais militares contra pessoas
morando nos domiclios dos entrevistados chega a ser o dobro do
percentual de pessoas agredidas na cidade: 4,4% para 2% de agredidos
nos ltimos doze meses em toda a cidade. E o padro muito claro,
diferente do encontrado nos outros crimes: a agresso atinge vrias vezes
mais pessoas negras, pobres e faveladas.
As pessoas pretas e pardas so mais vtimas deste tipo de violncia
do que as brancas e quando se considera a varivel escolaridade, verifica-
se que mais pessoas de ensino fundamental assinalaram mais agresses
cometidas por policiais militares do que universitrios. As mulheres pretas
em proporo trs vezes mais (7%) do que as brancas (2,2%) e duas
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
545
vezes maior do que as pardas (3,8%). Os de renda mais baixa afirmaram
ter algum da sua residncia agredido por policiais militares em propores
maiores do que os de renda mdia.
Na avaliao do trabalho policial feita pelos entrevistados as
propores indicam muito mais desconfiana do que as obtidas em relao
ao que fazer quando vtima de um crime. Por qu? A pior avaliao para a
polcia que faz o policiamento ostensivo e est mais espalhada pela cidade:
a Polcia Militar que tambm a que mais mata e a que mais atira em suspeitos
mesmo quando h transeuntes ou moradores no local da ocorrncia. Isto
especialmente verdade para as reas de favelas e os bairros pobres dos
subrbios. Segundo a pesquisa, policiais militares disparam dez vezes mais
tiros nas favelas do que nos demais bairros da cidade. E a proporo de
agresses perpetradas por policiais militares nos residentes o dobro na
favela do que no asfalto. Por isso mesmo, negros avaliam as Polcias,
especialmente a Militar, muito pior do que os brancos.
Avaliao da Polcia Militar por brancos e negros do Rio de Janeiro
Fonte: NUPEVI/ IMS/ UERJ/ IPP/PCRJ 2007
A confiana na Polcia tambm menor nas reas de planejamento
(APs) da cidade em que existem mais favelas controladas por traficantes,
onde quase no h policiamento. Em outras reas mais afastadas do Centro,
mas com muitos moradores policiais e milcias de moradores fazendo a
segurana das vizinhanas, a confiana na PM maior (grfico 1). Do mesmo
modo, a percepo da polcia como violenta e corrupta, assim como a
que usa a fora de modo desproporcional ameaa recebida, muito
M.Bom e Bom
Regular
M.Ruim e Ruim
Polcia Total
Polcia Militar Polcia Civil
Branco(a)
59,8%
20,1%
20,1%
Negros
48,2%
21,8%
30,0%
Branco(a)
55,0%
21,7%
23,3%
Negros
25,6%
20,0%
44,4%
Branco(a)
62%
19%
18%
Negros
55%
23%
22%
maior nessas reas (grficos 2, 3, 4 ,5 e 6).
Alba Zaluar
546
Em 2007, a pesquisa de vitimizao foi repetida em uma amostra
das favelas do Rio de Janeiro
5
e seus resultados revelaram que a desconfiana
da Polcia muito maior entre os jovens favelados do que entre os mais
velhos, o que indica uma ao policial mais concentrada nos jovens.
Surpreendentemente, so as mulheres faveladas as que menos confiam
pessoalmente nos policiais, em todas as idades. So elas tambm, em
todas as idades que afirmam em mais altas propores que a populao
da cidade no confia na PM. Como so elas as que menos se locomovem fora
da vizinhana, possvel que observem mais vezes as aes policiais que
empregam a fora excessivamente e injustamente, atingindo pessoas inocentes.
Voc confia na PM?
Fonte: NUPEVI/ IMS/ UERJ/ CNPq 2007
Masculino
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70+
Feminino
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70+
Confia
muito
0%
5%
14%
18%
8%
7%
0%
Confia
muito
0,0%
0,0%
6,9%
0,0%
5,7%
8,0%
40,0%
Confia
razoavelmente
26%
27%
17%
32%
34%
64%
80%
Confia
razoavelmente
19,2%
20,0%
17,2%
31,0%
28,6%
32,0%
20,0%
Confia
pouco
9%
18%
14%
14%
21%
7%
0%
Confia
pouco
15,4%
17,1%
20,7%
24,1%
22,9%
12,0%
10,0%
No
confia
65%
50%
55%
36%
37%
21%
20%
No
confia
65,4%
62,9%
55,2%
44,8%
42,9%
48,0%
30,0%
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
547
A imagem da Polcia Militar como violenta e corrupta tem tambm
percentuais mais altos entre os jovens favelados, especialmente as mulheres,
provavelmente pelos mesmos motivos. As altas propores de favelados,
mas principalmente faveladas, que consideram a Polcia Militar violenta e
corrupta revelam a quase completa ausncia de legitimidade desta instituio
junto aos jovens favelados.
A Polcia Militar violenta?
discorda
5,6%
0,0%
1,5%
3,8%
6,1%
2,9%
0,0%
Masculino
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70+
Feminino
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70+
Concorda
73,0%
63,6%
72,9%
68,2%
61,7%
51,9%
37,5%
Concorda
75,0%
75,9%
80,0%
65,4%
69,4%
65,7%
50,0%
Concorda
em parte
5,4%
15,2%
10,4%
15,9%
8,5%
7,4%
25,0%
Concorda
em parte
2,8%
13,0%
9,2%
23,1%
10,2%
22,9%
12,5%
5,6%
0,0%
4,6%
1,9%
2,0%
2,9%
0,0%
Discorda
13,5%
18,2%
8,3%
9,1%
19,1%
25,9%
25,0%
Discorda
11,1%
11,1%
4,6%
5,8%
12,2%
5,7%
37,5%
Nem
concorda
nem
discorda
5,4%
3,0%
2,1%
2,3%
4,3%
0,0%
0,0%
Nem
concorda
nem
Discorda
em parte
2,7%
0,0%
6,3%
4,5%
6,4%
14,8%
12,5%
Discorda
em parte
Fonte: NUPEVI/ IMS/ UERJ/ CNPq 2007
Alba Zaluar
548
A Polcia Militar corrupta?
discorda
0%
0%
5%
4%
4%
0%
0%
Masculino
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70+
Feminino
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70+
Concorda
72%
73%
77%
64%
60%
52%
38%
Concorda
92%
75%
80%
69%
71%
64%
64%
Concorda
em parte
14%
12%
6%
18%
9%
4%
38%
Concorda
em parte
3%
19%
11%
23%
17%
24%
5%
3%
0%
3%
2%
2%
3%
0%
Discorda
8%
9%
9%
11%
17%
22%
25%
Discorda
3%
6%
2%
2%
6%
9%
32%
Nem
concorda
nem
discorda
6%
3%
4%
2%
6%
7%
0%
Nem
concorda
nem
Discorda
em parte
0%
3%
4%
5%
9%
15%
0%
Discorda
em parte
Fonte: NUPEVI/ IMS/ UERJ/ CNPq 2007
FORMAS DE SEGURANA PRIVADA
Na pesquisa de vitimizao da cidade, 25% dos entrevistados
admitiram ter formas de segurana privada que variam muito: traficantes
pagos ou no pagos, moradores pagos ou no pagos, vigilantes no
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
549
uniformizados, empregados uniformizados de empresas de segurana,
empregados no uniformizados. A tendncia a uniformizar como milcias
as formas de segurana existentes nas reas pobres, especialmente nas
favelas, precisa ser re-examinada. Muitas das empresas de seguranas
uniformizadas ou no nas reas mais prsperas da cidade (AP 4 e AP 2)
pertencem a policiais, assim como as milcias nas reas pobres (AP1,
AP 3 e AP 5) so dirigidas por eles ou mantm uma relao estreita com
eles. A grande diferena est na relao do pessoal da segurana com os
moradores. Nas reas pobres, pela falta de acesso ao sistema de justia,
mais facilmente os agentes da segurana privada tornam-se tiranos que
impem outras decises extralegais ou ilegais aos moradores por conta
do poder que advm das armas que afastam assaltantes e traficantes do
local por eles vigiado.
Comparando as reas da cidade pelo tipo de segurana privada, temos
o seguinte quadro: Assistir trocas de tiros, pessoas agredindo outras pessoas,
pessoas sendo mortas ou levadas fora, pessoas traficando ou usando
drogas vrias vezes superior nas reas em que os traficantes garantem a
segurana do que nas demais. O percentual de vizinhos, parentes ou amigos
mortos tambm maior nessas reas dominadas por traficantes.
J viu nas
ruas da
vizinhana
Pessoas
agredindo
fisicamente a
outras
Pessoas
consumindo
drogas ilegais
Pessoas
vendendo
drogas ilegais
Pessoas
sendo
assaltadas (ja
escutou)
Pessoas
sendo
assassinadas
38,2%
58,4%
58,4%
12,1%
40,3%
MPG
29,7%
19,2%
10,5%
19%
15,7%
MNP
34,8%
37,2%
19,2%
20,4%
18%
SU
16,2%
29,5%
7,4%
50,2%
1,5%
15,7%
MDIA
30%
16,1%
53,2%
16,8%
22,1%
31%
18,2%
16,3%
11,6%
por armas de
fogo
74,1%
89,8%
78,1%
7,8%
43%
TNP
SNU
TPG
Alba Zaluar
550
Legenda:
TPG - TRAFICANTES PAGOS
TNP - TRAFICANTES NO PAGOS
MPG - MORADORES PAGOS
MNP - MORADORES NO PAGOS
SU - EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANA UNIFORMIZADOS
SNU - VIGILANTES NO UNIFORMIZADOS PAGOS
A pesquisa de vitimizao realizada em 2007 apenas nas favelas
permite-nos comparar reas igualmente pobres, pois no h quase
nenhuma variao de renda familiar entre elas. Isto importante porque
sabemos em quais das reas de planejamento (Aps) esto as milcias, e em
que reas os traficantes dominam de forma mais violenta. Na AP 4
notrio o domnio pelas milcias, o que foi comprovado na pesquisa de
campo. A exposio ao barulho de tiros assim como viso de alguns
crimes graves sistematicamente menor nesta rea. Nas AP 3 e 2, onde
as quadrilhas de traficantes dominam as favelas, esses crimes podem ser
Policiais
extorquindo
ou intimidando
Policiais
disparando
sem
provocao
Pessoas
armadas
brigando
Vizinhos que
foram
assassinados
46,8%
46,8%
46,8%
15,6%
40,3%
42,3%
38,2%
22%
3%
3%
15,7%
0%
12%
6%
20,4%
8,4%
5,9%
1,5%
5,9%
0%
10%
6%
12,9%
3,6%
8,3%
4%
10,8%
4,7%
observados vrias vezes mais.
J ouviu barulho
de tiros na
vizinhana
Sempre
Freqentemente
De vez em quando
Raramente
Nunca
Ap.1
36,4%
3,6%
14,5%
23,6%
21,8%
Ap.2
53,9%
3,9%
11,8%
11,8%
18,4%
Ap.3
55,3%
9,1%
12,8%
10,5%
12,3%
Ap.4
6,1%
2,0%
8,6%
33,3%
50,0%
Ap.5
37,1%
12,4%
21,9%
16,2%
12,4%
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
551
Ainda mais claro ficam os problemas na relao entre favelados e
policiais. As diferenas entre as propores mdias dos favelados e as
mdias dos moradores de toda a cidade no so muito grandes, com
exceo da observao local de policiais atirando que mais do que o
dobro nas favelas (9,7% para 4%) e de pessoas vendendo drogas ilegais
(30% para 18%). Qualquer uma das formas de segurana privada nas
favelas parece ser tambm muito mais eficaz no que se refere aos assaltos:
nas favelas, um percentual de 3,5% de moradores viu pessoas sendo
assaltadas na vizinhana, enquanto que 16% dos moradores de toda a
J viu na
vizinhana
Pessoas agredindo
fisicamente a outras
Pessoas consumindo
drogas ilegais
Pessoas vendendo
drogas ilegais
Pessoas sendo
assaltadas
Pessoas sendo
assassinadas por armas
de fogo (45% viu mais
de 10 vezes)
Policiais extorquindo ou
intimidando(82% viu
entre 10 e 100 vezes)
Policiais disparando sem
provocao (80% viu
entre 10 e 100 vezes)
Pessoas armadas
brigando
Vizinhos assassinados
nos ltimos doze meses
AP1
31,2%
47,3%
47,3%
1,8%
7,3,%
10,9%
7,3%
9,1%
3,6%
AP2
30,3%
44,7%
44,7%
1,3%
10,5%
7,9%
6,6%
11,8%
0%
AP3
40,6%
55,7%
47,5%
5,0%
16,9%
20,5%
20,1%
24,2%
8,2%
AP4
17,2%
9,6%
5,6%
1,5%
3,0%
2,0%
2,0%
5,1%
5,1%
AP5
20%
38,1%
20,0%
6,7%
15,2%
9,5%
6,7%
16,2%
7,6%
cidade observaram o mesmo crime nas suas respectivas vizinhanas.
Alba Zaluar
552
Ora, se mi l ci as ou moradores armados, sempre com o
apoio ou conexo estreita com policiais, conseguem controlar a
violncia armada e o trfico de drogas militarizado, porque a Polcia
enquanto instituio no obtm a mesma eficcia? Pelos dados
apresentados fica claro que o emprego excessivo da fora policial
observado principalmente nas reas pobres da cidade dominadas
por traficantes, mas habitadas por trabalhadores, no consegue
impedir nenhum dos crimes mais correlacionados com o aumento
da violncia na cidade.
Assim, deve-se perguntar se no foi a prpria ao policial
com fora excessiva e altos ndices de corrupo que contriburam
para estabel ecer a si tuao vi vi da hoj e na ci dade, si tuao
caracteri zada pel a extrema i nsegurana ou medo senti do por
grandes parcelas dos moradores. No mnimo estas prticas tm
se revel ado i nefi cazes para al canar o obj eti vo de di mi nui r os
crimes mais graves que atormentam a vida dos moradores. Estaria
a Polcia Militar do Rio de Janeiro arriscando-se a perder o seu
mandato de polcia? (Proena & Muniz, 2007).
Notas
1
Os dados da pes qui s a de v i t i mi zao do NUPEVI ( Zal uar, 2006) s o
impressionantes: o barulho de tiros ouvido sempre e freqentemente por 45% dos
entrevistados e est concentrado nas reas de planejamento 1, 2 e 3, de urbanizao
mais antiga na cidade do Rio de Janeiro e onde h muitas favelas. Conflitos armados
so vistos por 13% dos entrevistados e tambm esto mal distribudos na cidade:
maiores propores nas reas 1, 3 e 5, onde h maior concentrao de pobres.
2
Por causa da facilidade e nvel de lucros, aqueles que se envolvem no trfico, seja
qual for a classe social, o gnero e o nvel de renda, os policiais brasileiros afirmam:
Quem trafica uma vez, sempre volta. Mas isso no quer dizer que no haja quem
trafique por necessidade. No trfico capilarizado nas pontas nos bairros pobres e
nos centros de boemia, muitas mulheres, mais comumente ex-prostitutas ou de
profi sses de bai xa qual i fi cao, como mani curas, faxi nei ras, etc so tambm
vendedoras comuns. Tambm no quer dizer que no haja quem deixe para sempre
as atividades ilegais do trfico.
3
A Polcia Militar mata muito no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, foram mortas
6218 pessoas entre 2000 e 2006. Mas muitos policiais so assassinados tambm. No
mesmo perodo foram 1034 policiais mortos, dos quais 80% na folga (ISP/SSP-RJ).
www.isp.rj.gov.br
4
O universo da pesquisa foi a populao de 15 anos e mais na cidade do Rio de
Janeiro. Sobre este universo foi calculada uma amostra aleatria nos trs estgios
da pesquisa. Primeiro foram sorteados 200 setores censitrios mapeados segundo as
caractersticas socioeconmicas de cada um para que nenhum setor da populao
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
553
deixasse de estar representado na amostra. Segundo, em cada setor, depois de ter
todos os seus domiclios arrolados pelos pesquisadores, 20 domiclios foram escolhidos
pelo critrio de pulo, que depende do nmero de domiclios arrolados em cada um
deles. Terceiro, uma pessoa de 15 anos ou mais em cada domiclio foi escolhida
segundo o sexo e a idade, de acordo com 32 tabelas montadas para assegurar a
representatividade de cada sexo e grupo de idade.
5
Foram 60 setores censitrios em favelas escolhidas aleatoriamente, com um total
de 660 questionrios aplicados.
Referncias Bibliogrficas
BAUMAN, Zigmunt. (2007) Mi edo L qui do, l a soci edad contempornea y sus
temores. Barcelona: Paids.
BOURGOIS, Phi l l i pe. (1996) In Search of Respect, sel l i ng crack i n el barri o.
Cambridge e New York: Cambridge University Press.
CASTELS, Manoel & MOLLENKOPF, John. (ed.). (1992) Dual City: Restructuring
New York. Nova Iorque: Russel Sage Foundation.
FAGAN, Jeffrey. (2005) Guns and Youth Violence, Em Children, Youth, and Gun
Violence, Volume 12, Number 2, www.futureofchildren.org.
GEFFRAY, Chri sti an. (2001) Effects soci aux, economi ques et pol i ti ques de l a
penetration du narcotrafic en Amazonie Bresiliene. Em International Social Science
Journal, UNESCO, v. LIII, no. 3: Londres e Paris.
LINS, Paulo. (1997) Cidade de Deus, 1
a
. edio. So Paulo: Cia das Letras.
MYERS, G. P.; MCGRADY, G. A.; MARROW, C.; MUELLER, C. W. (1997) Weapon
carrying among Black adolescents: A social network perspective. Em American
Journal of Public Health, 1038, American Public Health Association.
PROENA Jr, D & J MUNIZ. (2007), Stop or Ill call the Police! The Idea of Police,
or the effects of police encounters over time, British Journal of Criminology 46:
234-257.
SASSEN, Saskia. (1991) The Global City. Princeton: Princeton University Press.
SCHIRAY, Michel. (1994) Les filires-stupfiants: trois niveaux, cinq logiques. Em
Futuribles, no. 185, Paris, mars.
VAN DER VEEN, H. T. (1998) The International Drug Complex: When the visible
hand of crime fractures the strong arm of the law, European University Institute,
www.unesco.org/most.
ZALUAR, Alba (1994): Condomnio do Diabo, Rio de Janeiro: Editora da UFRJ.
(2000): Perverse Integration: Drug trafficking and youth in the favelas of Rio de
Janeiro, Journal of International Affairs, , v. 53, n. n. 2, p. 654-671: New York.
(2001): Violence in Rio de Janeiro: styles of leisure, drug use, and trafficking
International Social Science Journal , UNESCO, v. LIII, n. no. 3, p. 369-379: Londres
e Paris.
(2006): Relatrio Executivo da Pesquisa Domiciliar de Vitimizao da Cidade do
Rio de Janeiro (2005-2006), NUPEVI, Rio de Janeiro www.ims.uerj.br/nupevi
Alba Zaluar
554
ANEXO: GRFICOS
Fonte: NUPEVI/ IMS/ UERJ/ IPP/PCRJ 2007
Grfico 1
Grfico 2
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
555
Grfico 3
Grfico 4
Grfico 5
Alba Zaluar
556
Grfico 6
Polcia e Juventude na Era da Globalizao
557
G
U
A
T
E
M
A
L
A
Comunicao
PREVENO DO DELITO E DA VIOLNCIA ENTRE
ADOLESCNCIA E JUVENTUDE
Leslie Sequeira Villagrn
*
Ainda que o fenmeno das maras ou gangues juvenis tenha comeado
a ganhar destaque como um desafio segurana cidad na Amrica Central
em meados da dcada de noventa; deve-se levar em considerao todo um
quadro de percepes que tenderam a responsabilizar a juventude pelos
problemas de insegurana que atinge um pas.
No contexto do mundo bipolar e dos devastadores conflitos
armados que atingiram uma boa parcela do territrio centro-americano,
os jovens se configuraram como uma grande ameaa segurana nacional;
embora, mas tambm devido a que, muitas das vtimas fatais do conflito
armado tenham sido precisamente jovens.
Tidos como subversivos contra o sistema, ou infratores que atentam
contra a governana, sem a inteno de matizar as maras e gangues como
movimentos reivindicativos; em ambos os casos possvel falar da
juventude como um segmento da populao altamente vitimado por
sistemas em que a iniqidade e a excluso tem sido o denominador comum.
Na dcada de sessenta, as demandas sociais consideravam urgente
a necessidade de ampliar a inverso social do governo, e a conseqente
prestao de servios, que contriburam para o desenvolvimento da
populao, especialmente na busca por reduzir a brecha entre o urbano e
o rural. Isto implicava, tambm, gerar espaos de consenso, que
permitissem populao participar do planejamento democrtico de
desenvolvimento, o que significaria modelar a atuao do Estado, segundo
as necessidades especficas dos indivduos. No caso da Guatemala isto
envolvia, especificamente, o reconhecimento de uma nao multitnica,
pluricultural e multilnge.
A assinatura dos Acordos de Paz na Amrica Central significou um
cessar-fogo e, como um claro matiz do advento da era democrtica,
patenteou o compromisso por parte do Estado, de adotar um conceito
de Segurana Humana, Integral e Democrtica, que buscasse o
*
Cientista Poltica, Coordenadora do Programa sobre Segurana Preventiva e Participao
Cidad do Instituto de Enseanza para el Desarrollo Sostenible IEPADES.
desenvolvimento de todos os indivduos por igual.
558
As expectativas entre os cidados eram muitas, o fim do conflito
armado e o compromisso por construir uma nao justa, eqitativa e
inclusiva, despertou a esperana entre a populao. No entanto, as
mudanas demoraram e a desiluso rapidamente tomou conta da cidadania,
insatisfeita com um governo que no entendia suas necessidades e que
continuava com um perfil autoritrio e de controle, baseado no
armamentismo, na persecuo e na suspeita.
As causas deste fenmeno se encontram ilustradas em mltiples
hipteses que para o caso desta obra no foram analisadas. No entanto,
necessrio considerar que um dos principais impedimentos a cumprir os
objetivos foi a ausncia de processos participativos e inclusivos na tomada
de decises, que permitissem aumentar a confiana, e intrinsecamente o
fortalecimento da institucionalidade democrtica, mediante a auditoria
social, a transparncia, o combate corrupo e a impunidade; alm da
ausncia de prticas que permitissem dar a conhecer cidadania o avano
dos processos, para gerar conscincia sobre os custos e os prazos reais
para cumprir os objetivos. Nesse sentido, possvel dizer, em princpio,
que os nveis de sucesso alcanados, estariam intimamente ligados s
conquistas iniciais que foram feitas em relao ao fortalecimento da
participao cidad e da democracia representativa. Possivelmente,
Nicargua foi o pas centro-americano que obteve as maiores conquistas.
Retornando ao tema da violncia na adolescncia e juventude, seu
surgimento em meados dos anos noventa, coincide definitivamente com
este perodo de desencantamento que se denominou o processo contnuo
de transio da democracia durante o qual a populao enfrentou diversos
desafios sua sobrevivncia; tudo em conseqncia da ineficcia do Estado
de prover bem-estar cidadania, somado a fatos conjunturais como os
devastadores efeitos do furaco Mitch e a Tormenta Stan, que colocam
novamente em evidncia, as condies deplorveis enfrentadas por
milhares de centro-americanos. Advertindo, alm disso, as novas ameaas
que supem o crime organizado transnacional e os desafios ao
desenvolvimento com equidade, numa regio que aposta na globalizao,
sem ter determinado um plano estratgico que considere toda a populao
e que permita distribuir os benefcios de forma eqitativa e inclusiva.
Dessa forma, segundo estudos realizados pelo ILANUD
1
sobre as
implicaes entre Desenvolvimento e Segurana Cidad a respeito do
Preveno do Delito e da Violncia entre Adolescncia e Juventude
559
aumento do delito na Amrica Latina, foram determinadas as seguintes
correlaes:
A maior:
Populao jovem fora do sistema escolar
Nvel de desemprego
Menor consumo per capita
Maior iniqidade na distribuio da renda
Mais urbanizao
Maiores ndices delitivos.
Tal correlao pode ser contrastada com alguns dados ilustrativos
para o caso da Guatemala:
Segundo o ltimo censo da populao na Guatemala (INE 2002) de
11.237.196 habitantes 60% so jovens e crianas. 44% do total da populao
so menores de 14 anos. Enquanto 11% tm entre 15 e 19 anos.
A taxa de excludos do sistema educativo formal de 43% at a
sexta srie, 80% at o primeiro ano do segundo grau e 85% at a concluso
do segundo grau. Num pas que se define como multilnge, a educao
bilnge, em nvel nacional, cobre apenas 19%.
44% dos jovens no receberam mais de trs anos de educao
fundamental, enquanto que 17% so analfabetos, com grandes brechas
entre populaes urbanas e rurais e por etnias e gnero.
Alm disso, segundo a Comisso Interamericana de Direitos
Humanos, em seu Relatrio referente situao da infncia e juventude na
Guatemala (2003), o absentismo escolar infantil elevado, a repetncia
escolar reflete problemas no sistema educativo (12.8%), e a avaso escolar
no ensino fundamental massiva (este ltimo se deve a causas como
migrao temporal, trabalho infantil, responsabilidades domsticas e custos
escolares).
De acordo s estatsticas nacionais e do UNICEF, estima-se que um
total de 811.987 jovens so pobres, enquanto que 340.308 sobrevivem
Leslie Sequeira Villagrn
560
em condies de extrema pobreza. As estatsticas nacionais tendem a
apontar que as crianas menores de cinco anos sofrem os mais altos nveis
de pobreza; de fato, 61.7% dos mesmos vivem em condies de pobreza
extrema e 41% sofrem algum nvel de desnutrio, o que equivale a
756.000 crianas nessa situao. A mortalidade infantil com um ndice de
89 crianas por cada 100 nascidos vivos alarmantemente alta.
Devido a sua insero no mercado de trabalho informal, os jovens
recebem remuneraes menores que o salrio mnimo; cerca de US$ 100.00
no setor agrcola e cerca de US$ 115.00 no setor no agrcola. 53% dos
jovens trabalham na agricultura. 52% dos desempregados so jovens.
Alm de criminalizar a pobreza, a infncia e a juventude constituem
um segmento populacional altamente excludo do sistema, sem opes
de escolha e oportunidades para aproveitar, presas fceis e vulnerveis
diante de ofertas inescrupulosas e/ou modelos de vida que expem a
precariedade no exerccio e nos fatores que devem integrar os processos
de socializao, de acordo a valores sociais relativos ao respeito dos
direitos humanos, promoo da paz e ao desenvolvimento.
Reduzir a violncia e a delinqncia juvenil implica em
necessariamente visualizar modelos de abordagem que considerem fatores
causais, como medidas que tendem reduzir os riscos e as ameaas,
mediante a gerao e dotao de recursos que reduzam a vulnerabilidade
da infncia e da juventude.
As Naes Unidas em seu X Encontro sobre Preveno do Delito e
Tratamento ao Delinqente diferencia dois tipos de estratgias de
preveno: preveno social, que reduz a motivao do delinqente, e a
preveno situacional, que reduz as oportunidades de cometer o delito,
e prope quatro focos gerais (trs dos quais procuram reduzir a motivao
do delinqente), que se diferenciam segundo seus objetivos e suas tcnicas
caractersticas. Os quatros focos de preveno do delito so os seguintes:
a) Desenvolvimento da infncia. Indicando que o maior
investimento em educao integral, desde cedo e variada,
(escolas para pais de famlia) e uma melhor alimentao,
sade fsica e mental para a infncia e a adolescncia
impactam consideravelmente na reduo de futuros delitos
e delinqncia futura;
Preveno do Delito e da Violncia entre Adolescncia e Juventude
561
b) Desenvolvimento da comunidade Uma linha importante
do esforo de preveno reside nos esforos dirigidos a
reforar a coeso social das comunidades locais e seu
desenvolvimento econmico mediante a promoo de
modelos produtivos sustentveis.
Oferecer mais servios e facilidades locais para o fomento da
comunidade, fortalecer os vnculos comunitrios, ensinar os jovens a
importncia do respeito lei, e a desenvolver as relaes entre a
comunidade e as instituies de justia e de governo, presentes dentro
do municpio.
c) Desenvolvimento social. Acesso ao emprego
remunerado, educao, atacar a descriminao e diversas
privaes sociais e econmicas. Supe-se que o
desenvolvimento social suprimir essas causas do delito.
d) Preveno das situaes que facilitam o delito.
Diferentemente das outras trs formas de preveno do
delito, todas as quais procuram reduzir a motivao do
delito, a preveno das situaes de delito procura reduzir
as oportunidades de infrao.
Esta modalidade inclui: campanhas de publicidade para a preveno
do delito, esforos dirigidos a influir no planejamento urbanstico e no
desenho arquitetnico para fomentar um cenrio livre de delitos, maior
iluminao, ordem no trnsito, controle de espaos, etc; esforos
concentrados na anlise e supresso de oportunidades de cometer formas
altamente especficas de delito como, por exemplo: assalto a bancos ou
edifcios residenciais, entre outros.
2
A preveno situacional tambm tem a ver com aquele conjunto de
orientaes destinado ao controle e supresso sobre o uso de armas de
fogo, lcool e drogas como trs fatores criminolgicos intimamente
relacionados com o delito e a violncia na infncia, adolescncia e juventude,
tanto como vtimas quanto como algozes.
Como se sabe, a preveno do delito encontra uma maior
compreenso a partir da viso epidemiolgica, entendida em trs nveis
fundamentais: a preveno primria que parte da consolidao de
Leslie Sequeira Villagrn
562
sociedades eqitativas e inclusivas, promovendo o desenvolvimento para
toda a cidadania, como o melhor antdoto contra a delinqncia e a
violncia. A preveno secundria que busca reduzir riscos e ameaas
entre setores vulnerveis a tornar-se vtimas e perpetradores de delitos e
violncia; e a preveno terciria que atende delinqentes para sua
socializao e vtimas para o restabelecimento de seus direitos.
Nesses trs nveis, o timo funcionamento do Sistema de Justia
contribui decididamente a tornar o modelo eficaz, no entanto, na
preveno secundria e terciria onde adquirem maior protagonismo;
onde se torna imprescindvel maximizar os processos, para contribuir
com a preveno de delitos, o restabelecimento de direitos e garantias e
a preeminncia do Estado de Direito.
A respeito do tema da infncia e juventude os desafios por parte do
Sistema de Justia so os seguintes:
Promover os quatro princpios fundamentais que regem
o contedo da Conveno sobre os Direitos da Criana:
No discriminao; Interesse Superior da Criana,
Sobrevivncia; Desenvolvimento e Proteo; e
Participao.
Prevenir e erradicar a Violncia Intra-familiar e todas as
manifestaes de violncia de gnero dentro do lar, como
fenmenos fortemente relacionados a condutas anti-sociais
na infncia e na adolescncia. Deve-se considerar tambm,
o combate aos delitos de Trfico de Pessoas e a Explorao
Sexual Comercial infanto-juvenil.
Promover espaos de participao e coordenao
interinstitucional entre o sistema de justia, administraes
locais, cidadania, instituies solidrias e entidades de
governo central presentes dentro da comunidade, para
promover o desenvolvimento integral de infncia,
adolescncia e juventude; assim como para gerar modelos
de acompanhamento e apoio a vtimas e perpetradores
deste segmento populacional.
Suprimir modelos de ao policial de carter repressivo,
contra a infncia, juventude e adolescncia; entendendo a
Preveno do Delito e da Violncia entre Adolescncia e Juventude
563
figura do policial dentro de um contexto democrtico, com
um perfil eminentemente preventivo; lembrando, alm
disso, que seu papel como porta de entrada ao Sistema
de Justia contribui em grande medida ao fortalecimento
do Estado de Direito e ao combate contra a impunidade,
na medida em que contribui para garantir o devido processo
legal e aumenta o respeito e a confiabilidade de sua ao
diante da populao.
Promover espaos de dilogo e discusso entre
adolescentes, jovens e autoridades presentes dentro da
comunidade, para gerar modelos de desenvolvimento e
estratgias para a reduo da violncia e a delinqncia entre
estes segmentos populacionais, partindo de suas prprias
contribuies e propostas.
Gerar redes de coordenao interinstitucional para referncia
e contra-referncia de casos de violncia e delinqncia a partir
da e contra a infncia, adolescncia e juventude, com o propsito
de detectar casos e/ou verificar reincidncias.
Em Concluso: A reduo do fenmeno da violncia e a
delinqncia na infncia, adolescncia e juventude, est intimamente
relacionada a melhorar as condies de vida dos indivduos, o resgate e a
proteo da famlia, o fortalecimento do Estado de Direito e a consolidao
de um Modelo de Segurana Humana, Integral e Democrtica, que
promova o desenvolvimento e a paz com respeito pelos Direitos
Humanos.
ANEXO
Modelo de Preveno Social de Delito na Nicargua
Elementos do Modelo de Preveno Social na Nicargua
Preveno Estatal:
Estabelecer alianas estratgicas com os Ministrios de
Famlia, Juventude, Educao, Cultura e Esportes, Sade e
prefeituras municipais, com o propsito de harmonizar as
polticas e a ao estatal em funo de garantir a efetiva
Leslie Sequeira Villagrn
564
proteo de crianas e adolescentes.
Construo de infra-estrutura mnima necessria que permita
elevar a qualidade de vida dos setores mais vulnerveis.
Gerao de um sistema de referncia que permita dar auxlio
estatal oportuno a: adolescentes em situao de risco, vtimas
de violncia intra-familiar, submetidos a maus-tratos,
abandono e explorao, vtimas de violncia sexual, etc.
Ateno s vtimas de atos delitivos especialmente mulheres
vtimas de violncia intra-familiar e/ou sexual e jovens.
Gerao de fontes de emprego e criao de projetos que
permitam a criao de empregos produtivos, projetos
educacionais, culturais e esportivos.
Reinsero dos jovens em situao de alto risco social no
sistema educacional formal ou vocacional, assim como
promoo de projetos de capacitao que facilitem sua
reinsero na vida socialmente til em temas tais como: a
auto-estima, sade sexual e reprodutiva, sistema de justia
penal e sade mental.
Da comunidade
Articulao dos esforos da Sociedade por meio do
Conselho Distrital de Preveno Social do Delito, organismo
que rege a preveno social e no qual esto representados
diversos setores da sociedade.
Impulsionar a participao de todos os setores da
sociedade na preveno social do delito, por meio das
diferentes comisses de trabalho que integram o Conselho
Distrital de Preveno Social do Delito.
Controle social no coercivo sobre agentes policiais com
tendncia no conhecimento de atos delitivos, jovens em
situao de alto risco social, lojas de bebida alcolica que
causem conflito, pontos de concentrao de jovens
transgressores ou de jovens em situao de risco.
Preveno do Delito e da Violncia entre Adolescncia e Juventude
565
Apadrinhamento e elaborao de projetos destinados a
facilitar a reinsero de crianas, adolescentes e jovens em
situao de alto risco social na vida socialmente til.
Retroalimentao Polcia Nacional sobre o sentimento,
as necessidades e percepes da populao em matria de
Segurana Cidad.
Formao de grupos de cidados de apoio a lares
disfuncionais ou famlias nas quais algum de seus membros
dependente de substncias qumicas.
Formao de comits de cidados de apoio aplicao
integral do Cdigo da Infncia e Juventude, relativo
liberdade assistida e outras medidas cautelares.
Apoio a eventos esportivos e culturais que permitam um
lazer sadio de crianas e adolescentes, assim como o
desenvolvimento de habilidades e conhecimento tcnicos.
Fortalecimento e impulso de lideranas locais que
permitam a busca de solues comunitrias aos problemas
relacionados com a segurana cidad.
Articular diante das instituies estatais e privadas dirigidas a
resolver problemas de infra-estrutura que geram insegurana
cidadania ou afetam a qualidade de vida da mesma.
Incentivo e formao de lideranas juvenis de um novo
tipo, baseado na cultura da No Violncia No s Drogas
Respeito ao Direito Alheio.
Da polcia
Doutrina Policial: O trabalho policial em todos seus mbitos tem
sentido somente em sua estreita vinculao com a comunidade qual
serve, com o fim ltimo de prevenir atos e situaes que atentam contra
a segurana individual e coletiva. O policial mantm uma atitude permanente
de disposio ao servio, de respostas s demandas da comunidade, em
estreita vinculao com ela e age em correspondncia com as necessidades
Leslie Sequeira Villagrn
566
e aspiraes sociais de segurana e tranqilidade
Quanto ao carter preventivo da ao policial se expressa: a razo
de ser de toda ao policial a preveno. Ordenao escalonada que v
da preveno de danos maiores contra a sociedadeConjuntamente com
a comunidade, devem ser desenvolvidas as capacidades de identificar
circunstncias, condies, tendncias, vulnerabilidades fsicas, sociais ou
de outra ndole que indiquem a possibilidade que ocorra um ato de interesse
policial, para evitar ou restringir seus efeitos
Fortalecimento da presena policial nos lugares, dias e
horrios mais atingidos pela atividade delitiva.
Aplicao do Plano de Reinsero vida socialmente til
de grupos de jovens em Alto Risco Social (em aliana com
instncias de apoio).
Investigao, perseguio e combate frontal s bocas-de-
fumo e aos traficantes.
Controle dos focos delitivos e pontos de concentrao
de elementos anti-sociais.
Profilaxia em relao a agentes policiais inclinados
comisso de atos delitivos.
Controle sobre comrcios de bebidas alcolicas que
gerem conflitos.
Controle sobre lugares de concentrao de jovens
transgressores e em situao de risco.
Visitas de controle e apoio aos centros escolares e lugares
que representam risco para os estudantes.
Controle sobre lugares vulnerveis ao conhecimento de
atos delitivos.
Insero dos vigilantes civis (patrulhas comunitrias) no
Sistema de Preveno Policial do Delito.
3
Notas
1
Instituto Latino-americano das Naes Unidas para a Preveno do Delito e o Tratamento da
Delinqncia.
2
Dcimo Congresso das Naes Unidas sobre Preveno do Delito e Tratamento do Delinqente,
Viena 10 a 17 de abril de 2000, Tema 5: Preveno eficaz do delito: adaptao s novas
situaes: 2-3
3
Polcia Nacional da Nicargua Alcanando um Sonho Modelo de Preveno Social da Polcia
da Nicargua. Mangua, Nicargua 2006.
Preveno do Delito e da Violncia entre Adolescncia e Juventude
567
B
R
A
S
I
L
Comunicao
DILOGOS DE UMA JUVENTUDE VIGIADA E
VIGILANTE
Aline Gatto Boueri
*
Somos cinco. Cada um tem a sua turma, a sua tribo, os seus projetos
de vida. No somos amigos, parentes ou vizinhos e nunca sentamos juntos
em uma mesa de bar. Entre a favela e o asfalto, somos familiares e estranhos
uns aos outros. Nossas vidas se cruzam diariamente na periferia da regio
metropolitana do Rio de Janeiro. Somos jovens. E nos encontramos aqui
para falar de polcia.
Mariana sociloga, branca, tem 37 anos e h oito trabalha com
jovens em um projeto social de uma favela do Rio de Janeiro. Quando
chega favela onde trabalha se depara com uma barreira policial. Mariana
no deve, mas teme. Afinal, a presena policial ali pode significar mais um
confronto. Mas o que ganha destaque na fala da moa a forma intimidadora
e, ao mesmo, tempo insegura como o policial em servio informa a
possibilidade de sua segurana estar em risco. Ele me avisou que eu no
poderia passar, me questionou o que eu fazia ali e, quando argumentei que
precisava passar para chegar ao trabalho, ele cedeu, mas se isentou tudo
bem, mas a senhora j sabe, n?. E eu no passei, conta.
Eu, Aline, 24 anos, jornalista, branca, classe mdia, criada na zona
norte e recm-chegada zona sul, sinto-me tambm apreensiva diante da
presena ou proximidade policial. Ora insegura, ora segura. E isto tem
muitos dependes. Depende da situao? Do local? Da hora? Das minhas
companhias? Da minha aparncia? Da minha cor? Da minha condio social?
Do tipo de policial? Do como ele faz o seu trabalho? Por que temos
sentimentos to dspares sobre a nossa polcia, sobre estes jovens de
uniformes e distintivos? Por que podemos nos sentir mais seguros quando
avistamos, de fora e bem de longe, um carro da Polcia Militar entrando na
favela, enquanto que aqueles jovens que vem a patrulha, de dentro e
bem de perto, talvez sintam justamente o oposto?
Leonardo tem 20 anos, negro e de origem pobre, como boa
parte dos jovens policiais que patrulham a regio metropolitana do Rio de
Janeiro. Ele mora, trabalha e estuda na mesma favela na qual trabalha
Mariana. Tambm no deve e tambm teme quando avista a polcia. Quase
*
Jornalista do Portal Comunidade Segura www.comunidadesegura.org.br
568
sempre mesma coisa: manobrar a desconfiana e a tenso das batidas
policiais, procurando responder com educao, levantar a camisa,
mostrar documentos, explicar tudo de novo, por vezes para os mesmos
policiais, quem , onde mora, onde estuda, onde trabalha, o que est
fazendo, e para onde est indo. Leonardo acredita que o nico problema
agora o Caveiro (carro blindado da PM do Rio de Janeiro, usado para
fazer incurses em favelas). Por conta de trguas entre os diferentes
comandos que disputam domnios territoriais, e determinam a geografia
poltica do local onde mora, Leonardo afirma que hoje em dia se sente
mais seguro na comunidade, apesar das incurses policiais. Apesar.
No entanto, o jovem no se sente injustiado pelo tipo de servio
prestado a ele pela Polcia Militar. Mesmo quando dirige sua moto com
documentao correta entre sua casa e o trabalho e, sem motivos
aparentes para a abordagem policial, ele acredita que a forma de atuao
policial na comunidade onde mora natural porque um local rotulado
como perigoso por quem est do outro lado, do lado de fora das favelas
(a polcia e os moradores do asfalto). Acostumado a ter que lidar com as
formas imprevisveis e ameaadoras de vigilncia dos jovens do trfico e
dos jovens da polcia, acostumado a viver entre as batidas e o batente,
Leonardo parece ter internalizado o medo dos moradores do asfalto com
tanta naturalidade, que justifica a prtica policial na sua comunidade de
acordo com a imagem externa do que seguro. Internaliza e aceita. Eles
[os policiais] no sabem se a pessoa que est passando bandido ou no.
Isso no est escrito na testa. Faz parte do trabalho deles abordar, revistar,
questionar. Contenta-se com o repertrio negativo de possveis violaes
policiais, desde que este exclua a violncia fsica. O que eles no podem
fazer bater, diz.
Teoricamente, eles tambm no poderiam favorecer determinados
indivduos por conta de relaes privilegiadas dentro da corporao. Mas
Tiago, soldado da Polcia Militar, branco, morador de um bairro popular
de Niteri, e Maurcio, capito da PM, branco e comandante de um batalho
de policiamento comunitrio em uma favela da mesma cidade, contam
que isso j aconteceu com eles. Tiago, que dirigia moto h alguns anos,
diz que precisou citar nomes de policiais militares conhecidos quando foi
abordado em uma blitz e, com a documentao do veculo vencida,
conseguiu se livrar das sanes previstas por lei. Maurcio sequer conhecia
pessoalmente o policial que mencionou ao ser flagrado dirigindo sem
Dilogos de uma juventude vigiada e vigilante
569
carteira de habilitao, quando tinha 16 anos. Disse que conhecia um
subtenente que morava no bairro e o policial me liberou. Joguei com a
sorte, conta. E deu certo.
Mas buscar ter alguma considerao ou facilidade do policial
no funciona para todo mundo. Leonardo um cidado comum, no tem
dinheiro, influncia ou prestgio para negociar. Na ltima vez em que foi
abordado pela polcia, foi acusado de ser um bandido conhecido, insistiu
em sua inocncia e venceu pelo cansao - e pela verdade - a dupla de
policiais que o abordara nas proximidades de sua casa. Ainda que
aparentemente convencidos de sua conduta legal, Leonardo conta que
recebeu uma espcie de indulto. Eles disseram que iam me dar uma
chance e me liberar. Chance de qu? Eu no sou bandido. Venceu por sua
verdade cansada, j conhecida de todos. E, dessa vez, deu certo.
Habituado a estar sob liberdade vigiada, a ser visto como uma
ameaa para a, e a se sentir ameaado pela polcia Leonardo desconfia dos
motivos que o levaram a se transformar em suspeito. Coincidiu de eu
entrar numa loja no momento em que avistei a polcia. Eles devem ter
achado que eu fui me esconder. Quando sa da loja, eles vieram me
perguntaram o que eu estava escondendo, relata.
Mariana passou por situao semelhante. Caminhando pela
comunidade onde trabalha, encontrou um policial e entrou em um bar,
mas no pde evitar a abordagem. Eles vm com a arma j apontada, e
eu no vou ficar de frente de um fuzil virado para a direo onde eu estou.
claro que aquela arma no estava apontada pra mim, mas se ele tivesse
que atirar, eu estava na frente. Mariana no se furtou em explicar isso ao
policial que a interpelou. Mas prefere evitar o encontro. Se dizem para
mim que a polcia est na rua, que pode acontecer alguma coisa, eu fico
aqui, espero, afirma.
Por que necessrio explicar os motivos de entrar em um
estabelecimento comercial? Por que necessrio informar seus motivos
para ir e vir, ainda que este seja um direito garantido por lei a todos os
cidados, jovens ou no? Por que o questionamento some diante da meno
a um determinado membro da corporao?
Mariana tenta explicar: Eu acho que qualquer relao humana e
a no a polcia, cidado, traficante se estabelece atravs do seu olhar
Aline Gatto Boueri
570
ou da sua postura, a sua reao ao que est acontecendo. Seguindo a
linha, seria possvel dizer que as relaes entre esses jovens e a polcia
esto baseadas numa lgica de desconfianas e medos recprocos,
agravados de acordo com as circunstncias nas quais o encontro se d. E
quase nada mais. Fica-se com a impresso de que nestas relaes s h
espao para temores e cobranas de dvidas. Do que somos devedores?
Os jovens temem os policiais. Os jovens policiais temem a juventude de
que fazem parte. Ser que nos tornamos devedores do medo, do
preconceito? Desde quando passamos a ser percebidos como elementos
suspeitos? Desde quando nossa liberdade de ir e vir, de se expressar,
passou a ser vista como fora de controle?
Tiago acredita que um dia foi diferente. Para ele, h alguns anos
quando precisou se valer de conhecidos na polcia para se livrar da
apreenso de sua moto havia mais respeito pela figura da autoridade
vestida com uma farda. Quando vamos um policial, tentvamos ao
mximo nos apresentar de forma insuspeita. Hoje o cara parado com
moto sem documentao, sem capacete e ainda reclama de ser parado,
avalia. Havia realmente mais respeito, mais dignidade?
Para um jovem, ser parado pela polcia no Rio de Janeiro sempre
um acontecimento que se transforma em conversa de bar. Ainda que
muitos tenham pelo menos um caso para contar, difcil encarar a situao
com naturalidade. Maurcio, no entanto, acredita que policiais jovens so
os que mais encaram com agressividade sua funo. Coincidentemente,
Tiago avalia a faixa etria que vai dos 17 aos 24 anos como a mais propensa
a cometer abusos e violaes, estimulados ou no, pelo uso de drogas.
Lana uma pista sobre os perigos de se alimentar somente vises negativas
sobre as formas de expresso e de afirmao de nossas identidades.
Neste encontro de juventudes, o extremo parece ser o ponto de
convergncia. Mariana encontra dificuldade em determinar as situaes
nas quais se sente insegura, em desenhar uma face para o perigo. Suspeito
no uma categoria que eu gosto de usar, acho que cria um estigma. Eu
acho que tudo est muito contextualizado, diz. Mas d um exemplo:
Vou passar por uma galera, os meninos de rua cheirando cola, empurrando
um ao outro ah, eu vou passar pelo meio porque eu no sou
preconceituosa. No, eu vou atravessar a rua, porque eu sei que at por
conta daquele contexto, naquele momento, isso pode acontecer.
Dilogos de uma juventude vigiada e vigilante
571
Maurcio tem medo de andar de nibus. Acha que possvel identificar
um marginal s de v-lo. Vive tambm a insegurana antecipada. No
pela vestimenta; eu no sei, eu acho que se denuncia com o olhar. Tiago
acha que a atitude diz mais. Tem um grupo de pessoas muito isoladas, e
quando sente a chegada da polcia, o grupo pra de falar, fica aquele silncio,
descreve. Segundo ele, nas vezes que foi parado, o comportamento do
grupo onde estava era esse. E ele acha justo. Quem no deve no tenta
ficar longe, afirma. Porm, o seu medo contradiz sua prpria afirmao,
evidenciando que mesmo quem no deve, tem motivos de sobra para temer
a polcia. Pois parece no est claro para ningum o que pode e o que no
pode acontecer durante uma abordagem policial no Rio de Janeiro.
Maurcio no teme pelo marginal em si, mas pela possibilidade de
ser identificado como policial. Moramos em uma cidade onde o policial
teme o marginal, moramos em uma cidade onde o jovem teme o policial,
ainda que esteja em concordncia com a lei.
Por qu? Responder a questo significa buscar superar traumas e
frustraes, compreendendo a maneira como se do, de fato, esses
encontros fortuitos entre as foras de segurana pblica do estado e os
cidados que delas dependem para a garantia de seus direitos.
Leonardo no se sente muito tentado em ir praia. Ele mora no Rio
de Janeiro, mas o litoral fica longe da favela onde mora e, quando diferentes
faces se encontram no nibus, pode haver problemas. Certa vez, o
problema foi com a polcia. De dentro do nibus uns meninos jogavam
amndoas nos pescadores. Eu e meus amigos acabamos levando a culpa
por algo que no fizemos, conta.
Foi a primeira vez em que Leonardo foi parado pela polcia. Ele
acha que a atuao na favela onde mora tem relao direta com a corrupo.
Quando eles esperam receber um dinheiro e no vem, ento eles vm
com tudo, do tiro para o alto, se o pessoal correr, jogam bomba de gs.
Tem hora que os caras do trfico tambm do tiro, a fica aquele tiroteio,
e quem est procurando lazer acaba ficando no meio disso tudo. Sai um
problema e entra outro, diz.
Durante certo tempo eu acreditei tambm nesta meia verdade
construda a partir dos encontros fortuitos com alguns policiais
Aline Gatto Boueri
572
aparentemente envolvidos com o crime. Acreditei que toda a polcia
funcionasse a partir da mesma lgica do trfico de drogas: disputando
territrios de forma violenta na minha cidade. Mais isto somente uma
pequena parte da histria, e pensar assim pouco contribui para entender
as relaes da polcia com a juventude, e prevenir os possveis desvios de
conduta de policiais. Devo dizer que concordo com Mariana. Dentro da
polcia, como em todo lugar, h pessoas boas e ruins. verdade que
quando as pessoas ruins se valem da instituio para praticar atos de
desrespeito e violao aos nossos direitos civis, isso me gera um
incmodo, como se no houvesse muito a quem recorrer.
Quando a instituio parece no assumir, de forma transparente,
regular e pblica, a responsabilidade de punir os desvios internos o que
pode fatalmente ser um equvoco meu, mas quando se fala em impresses,
os fatos nem sempre assumem o papel de protagonistas na construo
das verses -, ento talvez os encontros fortuitos se tornem ainda mais
trgicos, pois se do em um clima de incertezas e, pelo que ouvimos de
nossos entrevistados, a incerteza de como agir e o que esperar do
policial que gera a tenso e, por conseqncia, a rejeio do outro, causa
aparente de violaes e violncias recprocas.
Mas assim como Leonardo e Mariana, no vislumbro um mundo
ideal sem polcia. Desconfio de que neste exato momento a polcia ainda
exerce uma funo importante na preveno e no controle da violncia
diria, que parece contaminar grande parte das relaes humanas no Rio
de Janeiro. Assim como Tiago e Maurcio, acredito que antes de temer a
polcia, preciso compreender aqueles que esto nela como trabalhadores
de uma instituio, como cidados, como indivduos em busca tambm
de reconhecimento, respeito, cidadania.
Ser jovem no Rio de Janeiro estar na faixa etria mais vulnervel
violncia armada, estar sob a mira de ambos os lados da lei, estar mais
prximo de uma abordagem policial violenta, de um confronto armado
entre foras de segurana e traficantes de drogas. Somos todos
Leonardos, Marianas, Tiagos e Maurcios na corda-bamba do enorme
prazer de viver nossas vidas, e do grande temor em ser punido por isso;
do frenesi da juventude e de tudo que nos impede de viv-la plenamente.
Ns nos encontramos aqui para falar de polcia, mas falamos, na verdade,
de juventude.
Dilogos de uma juventude vigiada e vigilante
573
N
I
C
A
R
G
U
A
Comunicao
UM RELATO SOBRE A POLCIA NACIONAL E O
CONTROLE DA DELINQNCIA JUVENIL NA
NICARGUA
Marco A. Valle Martnez
*
1. APRESENTAO
O presente relato tem como base a minha experincia de 14 anos
de trabalho profissional com a Polcia Nacional da Nicargua (PN), que
me permitiram contribuir para a anlise, formulao, implementao,
monitoramento e avaliao de iniciativas diretamente relacionadas
preservao e ao controle da delinqncia juvenil na Nicargua, assim como
na regio da Amrica Central.
As seguintes linhas so uma espcie de reflexo com uma sntese
global, o que significa que mesmo estando baseado em experincias
particulares e gerais de meu trabalho, algumas vezes como consultor e em
outras como assessor se desenvolve em um nvel geral e no responde a
uma nica experincia, lugar, grupo, interveno, ttica, etc. Do mesmo
modo, destaco que o principal ator a PN, os e as policiais e, no meu caso,
o que fao organizar, sistematizar e relatar a minha experincia, tratando
de ser o mais fiel possvel ao policial junto comunidade.
Gostaria de deixar claro que, se no relato se percebe que fao
bons comentrios a respeito da PN, jamais ser porque fui consultor ou
porque atualmente sou assessor, mas sim porque considero que as coisas
foram bem feitas; do mesmo modo indico os pontos fracos pessoalmente
na prtica. Algo que esta polcia realmente tem o seu grau de democracia
em seu interior, onde, mesmo com os seus pontos fracos, seus membros
no s podem como so estimulados a apresentar as suas opinies,
intercambiar pontos de vista que, a posteriori, os chefes incorporam.
Existem casos em que este exerccio menos executado, ou podem existir
alguns que no o considerem de muita utilidade, mas se pode afirmar que
estes so a exceo e no uma poltica institucional.
Nesse sentido, as minhas apreciaes nunca so absolutas durante
o relato; tenho certeza de que sempre existem as excees ou que as
*
Assessor da Polcia Nacional, coordenador Mestrado Polticas Pblicas - Universidade
Centro-Americana
574
coisas no acontecem em 100%, mas o menciono agora para evitar ter
de repetir sempre que existem as excees para o cumprimento da
poltica, da estratgia e da ttica institucional.
Por outro lado, os olhos atravs dos quais se ler o estado da
arte da prtica policial a respeito do controle da violncia juvenil so os
meus, o que implica que outros olhos podem apreciar algumas situaes
de outra forma e outros de outra. O que realmente importante que
exista consenso sobre a tendncia geral. Gostaria que este tipo de relato
ajudasse nos objetivos do curso como espao interdisciplinar e
interinstitucional de dilogo, intercmbio e reflexo sobre os problemas e
aes de democratizao das polcias na Amrica Latina.
Para finalizar a apresentao, destaco que, como se trata de um
relato, no esperem s notas de rodap com citaes de livros, artigos
ou ensaios; o que mais vou expor so apreciaes, situaes, referncias,
documentos de trabalho e/ou oficiais, mas todas vividas, ou como tambm
se diz, fontes primrias.
2. O SER HUMANO E SEUS DIREITOS
Durante reunies, capacitaes, intervenes, operaes e qualquer
tipo de evento, respira-se, no interior da polcia, um ambiente de respeito
aos direitos humanos, mesmo nas situaes mais difceis e arriscadas, ou
ainda quando um membro da instituio tenha de sair dela. Dito de outra
maneira, durante atuaes policiais, cumprimento dos mtodos particulares
de trabalho, preparao contnua, em resumo, na cotidianidade policial se
remarca a importncia do respeito vida e aos direitos humanos.
Este fenmeno no produto natural e nem do acaso, seno de um
processo que nasce em 5 de setembro de 1979, quando fundada a PN
com um sentido de servio populao e respeito aos direitos humanos,
que se expressa em 1980 com o Decreto 559 que cria a Lei de Funes
Jurisdicionais da Polcia Sandinista, assim como na Lei 228, Lei da Polcia
Nacional, emitida em 31 de julho de 1996 e seu Regulamento atravs do
Decreto Presidencial N. 26-96, emitido em 25 de outubro do mesmo
ano. Igualmente, tem a sua base explicativa na Doutrina Policial (20 de outubro
de 1997), no Diagnstico Institucional de 1999, na Poltica Integral Polcia
Comunidade e Direitos Humanos (Disposio 0426-2001), no Plano
Um Relato sobre a Polcia Nacional e o Controle
da Delinqncia Juvenil na Nicargua
575
Estratgico 2005-2009, e no Modelo de Polcia Comunitria Pr-ativa (PCP),
que est sendo formulado atravs de um processo de consulta interna neste
ano de 2007.
1
A Academia da Polcia Walter Mendoza, Instituto de Estudos
Superiores, desempenha um papel destacado neste mbito.
Certamente, esta viso policial a que incide para que quem esteja
cumprindo tarefas de preveno e controle da delinqncia juvenil aprecie,
primeira vista, os jovens como o so, ou seja, jovens e o seu mundo, e no
delinqentes sem mais nem menos. Este ponto foi analisado com profundidade
em torno de 2002-2003, quando se estava projetando criar uma estrutura
especializada para atender os problemas produzidos pela violncia juvenil;
nesse momento se pensava que era necessrio mudar a estigmatizao dos
jovens, que tnhamos que trabalhar com eles e elas, que se devia melhorar a
relao da PN com os jovens e, mais ainda, que a instituio devia promover
uma coordenao interinstitucional que ajudasse a melhorar as condies de
vida da juventude em risco, em vez de reprimi-los. A estrutura Direo de
Assuntos Juvenis (DAJ) foi criada em 22 de setembro de 2003 pela Disposio
Administrativa No.025 03 do Diretor Geral da PN.
De forma contrria, em alguns pases existe a tendncia a igualar os
jovens que se vestem de determinada forma, se divertem nas esquinas,
escutam a sua msica e jogam o seu esporte favorito (ou ao que tm
acesso) e cometem uma ou outra falha com gangues, faces ou tribos,
dos quais se devem esperar condutas anti-sociais ou delitivas. No querem
perceber que os jovens tm a sua prpria forma de observar o mundo,
de se comportar, expressar, divertir e enfocar as suas preocupaes e o
fato de que esteja em ascenso a delinqncia juvenil no significa que
todo jovem seja delinqente, bem como tampouco que todo adulto o .
O problema deste tipo de viso que eminentemente reativa, tem
preconceitos que leva a que, de antemo, se condene qualquer jovem de
risco, age em funo de clichs, e no pensa que podem ser dadas
oportunidades para que se reintegrem sociedade.
3. ORIENTAO PARA A COMUNIDADE (CIDADANIA)
Do mesmo modo, a PN, desde a sua fundao, desenvolveu a sua
ao pensando em servir e no bem-estar da comunidade, evoluindo desde
uma estrutura e organizao centralizada (de dentro para dentro) para
uma gesto policial (de fora para dentro), que escuta a voz cidad, recolhe
Marco A. Valle Martnez
576
opinies, as incorpora e trabalha para aproximar ao mximo os seus servios
da comunidade e implementar a sua ao junto comunidade.
Um exemplo transparente dessa perspectiva de estar vinculada
comunidade foi vivida, entre outros momentos, nos primeiros anos da
dcada de 90, quando se pensava em comear a precisar de um modelo
melhor de trabalho com a comunidade, e se dialogava sobre como cham-
lo, chegando-se ao consenso de que devia se chamar relaes polcia-
comunidade, ou seja, com hfen para denotar uma fuso de ambas as partes
e no polcia e comunidade, que insinuava separao. Hoje se expressa na
diretriz que mostra uma polcia de e para a comunidade, o lema de 2007
com fortaleza e dignidade 28 anos de servio comunidade.
A sua aplicao nas tarefas de preveno e controle da violncia
juvenil se materializa, entre outros pontos, na sinergia PN, participao
comunitria e coordenao interinstitucional no territrio, seja no distrito,
municpio, bairro, comarca, vilarejo, etc. A ao policial para enfrentar os
problemas da violncia e delinqncia juvenil, teve as idas e vindas que nas
prximas pginas sero expostas.
4. CARACTERSTICAS DE LARES E DOMUNDO DE JOVENS EM
RISCO, E GANGUES
Diversos estudos da DAJ enfatizam que o mundo dos jovens em
risco e delinqentes juvenis se caracteriza por a) lares pobres onde
geralmente falta uma autoridade necessria para impor uma ordem e
inculcar valores, prticas e atitudes socialmente aceitveis, b) ausncia de
controle familiar, c) excluso do sistema educativo, e d) no sabem que o
fazer com o seu tempo que quase todo livre.
Por nossa parte, em um diagnstico de segurana cidad nacional
que realizamos em 2002, encontramos os seguints fatores associados
delinqncia juvenil: 1) percepo de excluso, 2) pares ou amigos
prximos, 3) violncia familiar, 4) excluso do sistema educativo, 5) falta
de espaos de recreao e superao cultural, 6) desemprego. A pobreza
um fator transversal desses lares.
A inter-relao destes fatores indica que medida que o jovem vai
crescendo, vai interiorizando um modelo de vida produto de sua
Um Relato sobre a Polcia Nacional e o Controle
da Delinqncia Juvenil na Nicargua
577
experincia caseira entrecruzada com a dos familiares, amizades, escola,
igrejas e meios de comunicao que em linhas gerais, indicam o caminho
do estudo, trabalho, formar um lar com filhos e filhas e ser mais ou menos
feliz. Do mesmo modo, quando chega a ser um jovem adulto espera
poder realizar o imaginado.
Mas quando a realidade lhe nega o imaginado, o jovem sofre um
choque j que percebe que os seus sonhos no sero realizados, enquanto
outros sim o faro, determinando a colocao em movimento de uma
conduta rebelde dirigida a expressar que tm valor, identidade, dirigindo as
suas foras contra tudo o que identificam como culpvel pelo seu fracasso
e contra os que percebem que tm algo que eles no conseguem. Quase
sempre esta cena acontece em lares pobres, por isso que os jovens em
risco, gangues e delinqentes juvenis predominam neste estrato.
comum tambm que o jovem encontre na rua o que no encontra
em casa: calor humano, fraternidade, comunicao, ao mesmo tempo em
que reafirma valores prprios mais da adolescncia e da juventude como
a coragem, a audcia, o herosmo e o desafio pelo perigo. Os pares ou
amigos prximos da rua tambm so um fator intimamente associado,
que pesa nos jovens, mas tambm, e talvez inclusive com muita fora, nas
crianas e adolescentes. No caso destes ltimos, viver no mesmo bairro,
ser vizinho, ou familiar de integrantes de gangues ou de integrantes de
grupos anti-sociais um elemento de risco, j que facilmente so percebidos
como seus heris e modelos a serem imitados; e ainda mais quando nos
lares existe desunio, pouco controle sobre os filhos e estes no estudam,
deambulam pelas ruas ou trabalham em mercados, sinais de trnsito ou
em outro lugar de risco.
Ao mesmo tempo, em alguns casos conveniente para os delinqentes
ter em suas filas crianas e adolescentes j que podem cumprir misses
cada vez mais difceis para os jovens e jovens adultos, tais como se introduzir
por uma janela para roubar uma casa, comprar drogas, servir de chamariz
para um roubo, arrebatar cordes, relgios, etc.
A tendncia de prevalncia de famlias com chefes de baixo nvel
educativo, ausncia de valores para orientao, desempregados e/ou
desunidos, constantes cenas de violncia familiar, ausncia de assistncia dos
filhos e filhas escola e pouco controle dos filhos por parte dos chefes de
Marco A. Valle Martnez
578
famlia, eleva as probabilidades de que alguns dos membros se precipite na
delinqncia juvenil. Noventa por cento dos jovens delinqentes consomem
drogas como cocana, maconha e crack, alm de consumir lcool. Neste
sentido, a relao da violncia, da delinqncia juvenil, e das gangues com as
drogas direta.
2
5. GRUPO DE RISCO, GANGUES E GRUPOS DE DELINQUENTES
De acordo com a DAJ, as duas categorias policiais objeto de
preveno e controle social e policial so grupos de risco (ou grupos de
alto risco social) e gangues.
Com relao aos primeiros, suas caractersticas so: a) no tm
natureza jurdica como associao de jovens, b) se relacionam
espontaneamente s vezes com fins menos lcitos, c) mantm vnculos
com a sua famlia, d) saem constantemente de seus lares, e) juntam-se em
parques, esquinas, centros comerciais, mercearias, ao redor de centros
de estudo e pontos de nibus, f) ocasionalmente consomem lcool,
drogas, entorpecentes e psicotrpicos, g) demonstram alguns sinais de
violncia e rebeldia e, h) eventualmente cometem infraes leves contra a
lei, classificadas como faltas penais.
Enquanto as gangues tm as seguintes caractersticas: a) se identificam
como grupos, utilizam smbolos, linguagens e condutas de identidade,
como solidariedade e ser membro de grupo, b) pode ou no haver
hierarquia organizativa, c) mantm vnculos com as famlias, d) se associam
eventualmente com adolescentes e jovens da rua, que no tm vnculos
familiares, e) as regras e normas de atuao no so rgidas, geralmente
no h ritual de entrada e no h conseqncias em caso de sada, f) se
organizam de forma local, no quarteiro, na quadra, na esquina, no bairro,
que consideram como seu territrio, g) no tm comunicao nem
vnculos com outras gangues de outros bairros e de outros departamentos
do pas, h) cometem delitos, faltas penais, leses, danos propriedade,
etc., que provocam grande sentimento de insegurana i) consomem lcool
e drogas habitualmente, j) exercem a violncia contnua e muito afirmada
como grupo, k) se enfrentam com outras gangues em defesa de seu
territrio; usam armas de fogo, brancas, de caa e outras, l) tipo penal qualificado como associao para delinqir.
3
Alguns nomes de gangues so: Los Batos Locos, Los Peteretes,
Um Relato sobre a Polcia Nacional e o Controle
da Delinqncia Juvenil na Nicargua
579
Los Culiolos, Los Pelones, Los Chilamates, Los Cabros, Los Chibolones,
Los Arroyeros, Las Grgolas del Fox, etc. Estes tipos de nomes indicam
que houve pouca influncia de gangues ou faces de outros pases centro-
americanos ou dos Estados Unidos. Mais ainda, em todas as intervenes
sobre violncia juvenil que participamos escutamos poucas expresses
dos jovens delinqentes que denotem admirao e desejos de chegar a
ser como os modelos salvadorenhos, hondurenhos ou guatemaltecos.
Em algum momento, foram percebidas pequenas influncias estrangeiras
nas cidades de Estel e Chinandega (ambas prximas da fronteira norte),
mas no tiveram maior significado. Um ponto em aberto na agenda de
pesquisas e intervenes encontrar os fatores que explicam o
nacionalismo da gangue nicaragense, sua ao amadora com relao s
gangues de outros pases e o porqu de, sendo a Nicargua um dos pases
com ndices mais baixos de desenvolvimento humano, um dos pases
mais seguros da Amrica Central.
Os grupos de delinqentes so como indica o seu conceito - a
reunio de vrios delinqentes juvenis, que podem ou no andar com
adultos e que se dedicam a delinqir, praticando atos contra a vida das
pessoas, contra a propriedade ou efetuando delitos contra a sade. Este
tipo de grupos, que na rea urbana tm normalmente poucos membros,
nem sempre age em conjunto, e se separa, e seus os membros agem
individualmente, com outros delinqentes ou voltam a se juntar pra
delinqir. O importante neste caso que se est na presena de delinqentes
que, no raramente cometem homicdios, assassinatos, leses e roubos
de diversos tipos em seu expediente de vida.
Que no se pense que essas categorias sempre existiram e que so
estticas e que as suas fronteiras so cristalinas. Pelo contrrio, estas so
o resultado de um processo de reflexo e busca com base na prtica
policial em inter-relao com profissionais e organismos cuja misso a
preveno da violncia e o delito. Sobre esse aspecto, em sesses de
anlise que efetuamos com oficiais que trabalham diretamente a
delinqncia juvenil, se destacaram muitos exemplos de jovens que
comearam em grupos de risco, passaram para gangues e que hoje so
delinqentes que esto presos, sendo procurados e alguns esto mortos
devido a sua vida violenta. Do mesmo modo, existem os que conseguiram
superar os momentos de participao em gangues e se integraram vida
social, ou outros que conseguiram sair dos grupos e da vida arriscada.
Marco A. Valle Martnez
580
6. RELAES POLCIACOMUNIDADE, DELINQUNCIA JUVENIL
E PROCURA DO ENFOQUE ADEQUADO.
Durante os anos 90 e comeo de 2000, estiveram em seu apogeu
as gangues que se fizeram notar em vrias capitais departamentais com
maior presena que atualmente. Foram anos de investigao, busca e
reflexo sobre o enfoque adequado para enfrentar a violncia e delinqncia
juvenil, sempre tendo como eixo da ao policial as relaes polcia-
comunidade.
raiz de um estudo que realizamos em 2001 sobre a necessidade
de melhorar o sistema de emergncia policial 118 de Mangua, tivemos a
oportunidade de entrevistar policiais, consultar documentos e analisar em
alguns bairros da capital com a comunidade o problema da violncia juvenil
e os servios de emergncia da PN. Na ocasio, precisamos que o 118
fosse concebido e colocado em funcionamento em dezembro de 1994
com a finalidade de oferecer servios de emergncia populao da capital,
preocupada com os problemas das gangues. Ou seja, o 118 nasce vinculado
diretamente aos conflitos provocados pela delinqncia juvenil. Conforme
a populao foi conhecendo o 118, o utilizou no s para esse fim, mas
sim para qualquer assunto que lhe preocupara e que a polcia devesse
atender de imediato. Dessa forma, foi sendo legitimado como emergncia
tudo o que segundo a populao que chamava o 118 estava ocorrendo e
requeria a presena policial imediata.
Sob este prisma, tornou-se costume considerar como emergncia
tudo o que se recebia no 118, que era transferido via rdio-operadores
s patrulhas e Brigada Especial (B/E) no caso de gangues, que ofereciam
servio em seis distritos (do 1 ao 6), ficando excludos o distrito 7 San
Rafael del Sur e o distrito 8 Tipitapa. No caso da B/E, esta atendia de
forma rotineira do 2 ao 6 e, em certos momentos, o 1, e, depois, a
Tipitapa devido ao aumento da presena de gangues.
4
Mesmo a polcia mantendo a sua orientao para a comunidade e
com objetivos de preveno, se buscava aprofundar a mencionada relao,
no caso da violncia juvenil e das gangues em particular, o mtodo reativo
estava em seu apogeu junto com experincias de ndole preventiva-
simbolizado pela ao da Brigada Especial, conhecida popularmente como
anti-motins. Ao anoitecer, os anti-motins saa para determinados bairros
Um Relato sobre a Polcia Nacional e o Controle
da Delinqncia Juvenil na Nicargua
581
de Mangua para freiar a violncia das gangues e levar a sensao de
segurana para a comunidade. A Brigada foi criada para conter alteraes
da ordem pblica e levar tranqilidade cidadania nos anos 90, quando se
deram perturbaes devido a problemas da propriedade, estudantis,
greves de transporte, etc.
O Plano Gangues de Mangua executado em 1999 por exigncia
do Executivo durante trs meses, nas noites e madrugadas, exemplifica a
concepo reativa da ao policial desses anos, que teve como smbolo
os anti-motins. O plano operacional estabelecia diariamente os lugares
de maior conflito, violncia e destruio ocasionada pelas gangues e, com
essa orientao as foras policiais marcavam presena desenvolvendo
vigilncia e patrulhamento motorizado intenso e procedendo-se
neutralizao das gangues quando a situao assim exigia. Nos bairros em
que houve mais violncia quando ao entardecer, e isso ocorreu nos finais
de semana, os anti-motins estavam em ao. Em meio concepo
reativa se estava tentando mudar o mtodo e, por isso, outras instituies
governamentais, como o Ministrio de Educao, o Ministrio da Famlia,
a Secretaria da Juventude, etc., foram incorporadas ao mencionado plano.
Alguns objetivos do plano foram melhorar a segurana e o
sentimento de segurana cidad nos lugares de maior violncia de gangues,
capturar os chefes das gangues e incorpor-los a centros de estudos,
associaes esportivas, religiosas, etc. os jovens que aceitassem dar esse
passo de reintegrao social. Com destaque nos meios de comunicao,
foi declarado que o plano havia sido um sucesso, pois a comunidade e os
bairros afetados expressaram que agora dormiam e viviam tranqilos,
muitos chefes foram capturados e processados, enquanto outros
receberam pena de sano policial comutvel por multa.
Durante as entrevistas que realizei com chefes de setor destacados
nesses territrios eles expressavam que o plano a) teve bons resultados
imediatos, mas que a mdio prazo o problema continuaria, b) que muitas
gangues tentaram se armar para enfrentar polcia, c) que violncia contra
violncia gera mais violncia, d) que o seu trabalho no territrio foi afetado
j que os anti-motins chegavam, colocavam ordem e embora iam,
enquanto eles que ficavam no territrio recebiam as conseqncias, por
exemplo, muitas famlias que acreditavam neles, os chefes de setor, depois
deixavam de acreditar e ento diminua o nimo de trabalhar lado a lado
Marco A. Valle Martnez
582
com a polcia. continuao, tambm consideravam que os chefes de
gangues e as gangues em geral temiam os anti-motins, colocavam
falces (vigias) nos bairros e, quando sabiam que vinham muitos,
membros das gangues fugi am e i am para outros bai rros ou se
escondiam, enquanto outra expresso sntese foi ...para que, os azuis
(os anti-motins) colocavam as coisas em ordem, esses no dialogavam
mas chegavam para fazer o seu trabalho.
5
Pois bem, enquanto em Mangua se desenvolvia o Plano Gangues,
em Masaya, a 27 quilmetros, empreendamos, ou melhor, participei
como coordenador de um projeto de segurana cidad no qual
intervieram PN, governo central, prefeitura, comerciantes, moradores,
igrejas e organizaes no governamentais, que teve como um de seus
eixos a preveno da violncia juvenil.
6
Esta experincia foi totalmente
diferente da de Mangua. Enquanto na capital se abordava o problema
com as gangues, em Masaya era mais com grupos de risco e com uma
ou outra gangue incipiente.
De forma simultnea, a Chefatura Nacional da PN, e em particular
a Subdireo Geral de Preveno, impulsionava reunies e trabalhos de
anlise das diversas formas em que se abordava a violncia juvenil em
nvel nacional, os seus resultados e a melhor forma de faz-lo, tendo
como orientao o respeito vida e aos direitos humanos e um sentido
de aproximao com a comunidade.
O contexto no incio do projeto em Masaya foi marcado por uma
greve nacional do transporte e de estudantes que impediu que o Plano
de Ao (do projeto) fosse lanado em abril. Uma greve que afetou o
pas determinou que a PN concentrasse o seu trabalho em tarefas de
ordem pbl i ca, tai s como bl i tz operacionais fi xas, servi os de
patrulhamento motorizado, controle de objetos explosivos, etc. Por
tanto, a populao tambm se concentrou em resolver as suas
necessidades de mobilizao com todas as conseqncias que para
cumprir com os seus trabalhos, compras, comrcio, escolas e mais,
significou a greve. Deve-se ter em conta que so anos em que os grevistas
e incluindo alguns movimentos polticos quiseram manipular as gangues
e os jovens em risco para que provocassem o caos em algumas cidades,
especialmente na capital.
Um Relato sobre a Polcia Nacional e o Controle
da Delinqncia Juvenil na Nicargua
583
Depois de pouco mais de um ano, os resultados do projeto estavam
vista, entre outros, melhor controle de pontos de venda de bebidas
alcolicas, neutralizao de uma boa quantidade de pontos de venda de
drogas, avanos no controle de armas de fogo, desarticulao das gangues,
acordos de no agresso entre grupos de jovens em risco, incorporao
ao estudo e abandono da violncia juvenil. Estes resultados foram produto
da combinao do trabalho preventivo policial e social, em que os diversos
atores articularam esforos, incluindo os mesmos jovens que foram
deixando a violncia. O principal foi apreciar o jovem como jovem, no
como delinqente, no como membro de gangue, valoriz-lo sem
preconceitos, falar com eles, entend-los, penetrar no seu mundo, nos
seus problemas, escut-los, integr-los em atividades acordadas, falar com
as famlias, parentes prximos, amigos e amigas, faz-los participar de
atividades culturais, esportivas e religiosas, e contribuir para que
encontrassem esperana no seu futuro. Ao mesmo tempo, eram
executadas aes de preveno policial que, entre outros propsitos,
tratavam de abrandar os lderes de grupos em risco/gangues que tentavam
boicotar as atividades do projeto.
Um indicador de resultados foi que a populao de Masaya avaliou
positivamente o servio que a PN prestava em seu bairro ou em sua
regio. Na pesquisa de 1998, 27% das pessoas consideravam que o
servio era adequado e muito adequado, aumentando a porcentagem para
33.5% de adequado e muito adequado em 2000. O mesmo aconteceu
com as opinies negativas. Em 1998, 71% opinou que era pouco adequado
e nada adequado, assim que em maro de 2000 descendeu para 64.8%.
O mesmo aconteceu com o patrulhamento. Em 1998, 21.6% opinou
que a polcia patrulhou com freqncia e com muita freqncia a sua regio,
enquanto em 2000, o ndice foi 28.8% de pessoas que disseram que
patrulhavam com freqncia e muita freqncia. Sempre na mesma
direo, interessante a diminuio de opinio negativa sobre o particular.
Em 1998, 77.3% disseram que a polcia patrulhava muito pouco e nunca,
e em 2000 essa porcentagem diminuiu para 48.5%.
7
Este projeto teve certa repercusso nos esforos de mudanas de
mtodos j que a Chefatura Nacional o monitorou constantemente e este
foi documentado do princpio ao fim, o que permitiu que servisse como
insumo para a reflexo, comparao e para avanar para um modelo
que tivesse como eixo a preveno e no a reao.
Marco A. Valle Martnez
584
7. PELO MODELO DE PREVENO DO DELITO E DA
DELINQUNCIA COMO EIXO DA AO POLICIAL
Em 1995 a Chefatura da Polcia Nacional formalizou a priorizao
da rea preventiva, atravs da especialidade de Segurana Pblica Nacional,
reestruturando a estratgia fundamentada na preveno do delito, na qual
se envolveram os diversos atores da sociedade. Conclui-se que o delito e
a delinqncia no so um problema policial, mas sim social e como tal
necessrio enfrent-lo sob uma perspectiva que combine o social e o
policial. Nesse mesmo ano, foram aprovadas as Normas de Organizao
Interna da Especialidade de Segurana Pblica e, em 1996, a Doutrina
Policial, que estabelece de forma clara a concepo e a filosofia de servio
de preveno pblica do delito, que oferece a Polcia Nacional sociedade
nicaragense. Neste documento se orienta que a especialidade de Segurana
Pblica adote o modelo integrado preventivo-corretivo, que concebe o
crime como um problema social.
Enquanto se est com o Plano Gangues e o enfoque reativo em
outros espaos e intervenes, tambm so vividas experincias de
preveno social como Masaya, que depois so reproduzidas em
municpios como Len, Chinandega e Estel, e em nvel central se reflete
no Conselho Nacional da PN sobre o caleidoscpio de prticas policiais,
e so organizadas as experincias e se incide na ordem normativa da
instituio, redirecionando a ao para o enfoque preventivo que hoje
aprofundado e se busca consolidar.
Em meio a essa dinmica, surgem os Comits de Preveno Social
do Delito (CPSD) em Mangua em 1997, com o propsito de ajudar a
enfrentar o crescimento dos problemas gerados pelas gangues e os pontos
de venda de drogas. O interessante do caso que surgem um ou dois
problemas concretos e depois, conforme se intensifica a relao com a
polcia, vo se convertendo em estruturas participativas da populao
para ajudar na construo de sua segurana cidad. Em 2003 foi efetuada
a primeira reunio dos CPSD do departamento de Mangua. Neste ano
de 2007, se tem planejado efetuar a primeira reunio nacional em outubro,
que estava pronta para ser realizada nos dias 7 e 8 de setembro, mas que
foi cancelada por causa dos estragos ocasionados pelo Furao Flix, que
obrigou a instituio a dar prioridade direo RAAN, onde pegou com
toda a sua fria o fenmeno natural.
Um Relato sobre a Polcia Nacional e o Controle
da Delinqncia Juvenil na Nicargua
585
Como expressamos no relato, esse esprito comunitrio, que tem
as suas razes nos anos 80, est claramente expressado no artigo 6, inciso
4, da Lei 228, que se refere s relaes com a comunidade com o
propsito de estabelecer mecanismos e colaborao com as diferentes
organizaes da sociedade civil, e observar, a todo momento, um
tratamento correto e esmerado com os cidados, entre outros tpicos.
Portanto, a Doutrina Policial destaca nos princpios e valores o servio
comunidade, dizendo que o trabalho policial em todos os seus mbitos
tem sentido s em estreito vnculo com a comunidade qual serve, com
o fim ltimo de prevenir atos ou situaes que atentem contra a segurana
individual e coletiva. A viso e misso tambm contm essa orientao
de desempenhar o trabalho policial ntima relao com a sociedade;
perspectiva que se reafirma nas Diretrizes para o Trabalho da Polcia
Nacional em 1999, tanto em seus objetivos estratgicos, como em seus
planos e, objetivos especficos.
Em um relatrio da Chefatura Nacional em 1999, transmitindo nossa
apreciao sobre o enfoque preventivo e as relaes com a comunidade,
escrevamos ...somos da opinio de que este estado da concepo - e
sua dinmica alentador j que mostra que na prtica policial h
efervescncia, movimento e foras que empurram para a mudana, alm
de ser parte da transio institucional. Dito de outra forma, as relaes
polcia-comunidade, nos fatos, esto em processo de construo e
delimitao e, como tal, do mesmo modo a sua conceitualizao, em um
ir e vir onde ambas as partes (prtica e reflexo) se retro-alimentam.
8
Esse esprito de preveno e busca com relao delinqncia juvenil
se concretizou em 2003 com a criao da Direo de Assuntos Juvenis,
depois de um processo de consultas populao, pessoas conhecedoras
do problema, organismos no governamentais, ministrios e, logicamente,
consultas internas na polcia. Foi uma aprendizagem valiosa j que foram
abordadas anlises e discusses a respeito do enfoque preventivo, a viso,
misso, princpios, a percepo dos jovens sobre a polcia, a percepo
dos/das policiais sobre os jovens, o peso de sua participao no total de
delitos nacionais, algumas experincias com sucesso de trabalho com
jovens, a conceitualizao de adolescente, jovem, jovem adulto, grupo de
risco, gangues, etc.
O modelo preventivo global da instituio policial, com relao
Marco A. Valle Martnez
586
juventude se concebe como misso definir e promover respostas de
preveno ajudando a misso da Polcia Nacional manifestada em uma
eficiente e eficaz resposta de promoo, proteo e defesa dos direitos
humanos de meninas, meninos, adolescentes e jovens, contribuindo na
formao e transformao das relaes de respeito, igualdade e equidade,
que propiciem uma cultura de paz no marco da segurana cidad
necessrios para o desenvolvimento da qualidade de vida da nao. Portanto
os princpios so carter preventivo da ao policial, proteo especial,
interesse superior de meninas, meninos, adolescentes e jovens, enfoque
de gnero, responsabilidade compartilhada, etc.
Dentro do modelo preventivo policial desempenham um papel
primordial a famlia, as amizades, o bairro, o entorno prximo, a escola,
os colgios, inter-relacionados com as instituies do governo central ou
local, igrejas e organizaes no-governamentais. Aproximadamente quatro
mil jovens se reintegraram sociedade. Os tempos da brigada passaram,
hoje so tempos das brigadas estudantis, brigadas esportivas, brigadas
culturais ou outros tipos de brigadas que contribuam a fundo para potenciar
o valor da juventude. So promovidos espaos de superao e diverso,
oficinas de auto-estima, apoio para conseguir emprego para quem precisa,
promoo da participao da famlia e da comunidade nos esforos de
reintegrao social, incorporao em tarefas prprias de preveno e
mitigao de desastres ou outros fenmenos, etc. Em resumo, feita
uma combinao do estudo dos diversos fatores de risco que se relacionam
com a delinqncia juvenil, ao mesmo tempo que se potencializam os
fatores protetores e tudo isso dentro de um conceito global de polcia
comunitria pr-ativa, que se est afinando este ano.
8. POLCIA COMUNITRIA PR-ATIVA (PCP) E PREVENO DE
DELINQUNCIA JUVENIL
A poltica da relao polcia-comunidade e direitos humanos a
referncia do Modelo PCP.
O modelo PCP o sistema de funcionamento policial que contribui
para assegurar que a instituio cumpra a sua misso orientada cidadania
com a melhor eficcia, eficincia e qualidade profissional e humana. O
modelo PCP cruza transversalmente a instituio e como tal implica uma
forma de pensar e fazer no cumprimento da misso policial. Constitui um
Um Relato sobre a Polcia Nacional e o Controle
da Delinqncia Juvenil na Nicargua
587
arqutipo transversal e integral do funcionamento institucional, que exige
romper paradigmas, substituir cultura e crenas arraigadas, persuadir e
convencer para que seja assumido por convico. Tem dois componentes
essenciais: o comunitrio e o pr-ativo.
O componente comunitrio a vinculao com a comunidade como
eixo principal da ao policial: auxlio judicial, segurana pblica, trnsito,
inteligncia, pesquisas econmicas, assuntos juvenis, pesquisas drogas,
administrao, etc. O comunitrio se desenvolve e aproveitado
reciprocamente a fim de resolver os principais problemas da comunidade
em matria de preveno do delito e da delinqncia, assim como oferecer
um servio de qualidade de acordo com a sua expectativa.
O componente pr-ativo se refere preveno policial e consiste
em impulsionar e manter permanentemente uma conduta e atitude pr-
ativa, ainda em meio daquelas situaes nas que se deve reagir. Em outras
palavras, a conduta desenvolvida para prever causas e condies que
possam facilitar com que ocorra um fenmeno de ordem policial, tal como
a atividade delitiva, acidentes de trnsito, alteraes da ordem pblica,
servios policiais e administrativos, comunicao interna, comunicao
externa, recursos humanos, etc.
O modelo tem na base a necessidade de abrir espaos para o
concurso sinrgico do Estado, governo, empresa privada, organismos
no governamentais e sociedade civil diante do fenmeno do delito, da
delinqncia e da violncia, promovendo um esprito de cooperao e
colaborao que traduzido em estratgias que incidam na mudana de
padres de comportamento e oportunidades para a cidadania. A
coordenao inter-institucional um fator de importncia primordial como
condio imprescindvel para a consecuo de melhores nveis de segurana
cidad. Por isso, a PN deve impulsionar uma relao prxima com as
instituies que tm relao com a sua tarefa para que localizem no centro
o interesse comum, coordenem as polticas de forma que se consigam
diferentes decises e aes dentro de uma nica viso de conjunto com
sentido estratgico.
A preveno social, policial e situacional est no centro do Modelo
PCP. A tendncia e o caminho da preveno e controle da delinqncia
juvenil esto ganhando com o avano do modelo; no h volta atrs, cada
Marco A. Valle Martnez
588
dia mais se consente a idia na polcia de que a misso policial tem assegurado
o seu cumprimento efetivo e eficiente desde que seja executada passo a
passo com a comunidade.
9. CONCLUSO
A Polcia Nacional da Nicargua, nascida e enraizada na comunidade,
transitou de um enfoque reativo para um enfoque preventivo global, e em
particular, com relao delinqncia juvenil, cuja justeza foi expressa no
fato de a Nicargua ser um dos pases mais seguros da Amrica Latina e,
ao mesmo tempo, a delinqncia juvenil (gangues/faces) amadora e
no h grandes organizaes como o caso de pases como Guatemala,
Honduras e El Salvador. Estudos das polcias da Amrica Central, assim
como de organismos internacionais so testemunhas dessa realidade.
9
Notas
1
Site Web da PN: www.policia.gob.ni ; Polcia Nacional Constituio Poltica. Leis.
Regulamentos. Doutrina Policial, 1.Ed., Mangua, El Amanecer S.A.1998, 360 p.; Instituto
Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) e Agncia Sueca para o Desenvolvimento Internacional
(ASDI), Diagnstico Institucional, Trs tomos e sete anexos, Projeto Modernizao,
Desenvolvimento e Capacitao da Academia de Polcia e a Polcia Nacional da Nicargua,
1999.
2
Valle Martinez, Marco A. Diagnstico de Segurana Cidad da Nicargua, Projeto Apoio
implementao de uma estratgia de segurana cidad na Nicargua, NIC/02/MO2, PNUD e
Ministrio de Governo, 2002. Mangua, Nicargua.
3
Ver trabalho da DAJ condensado no livro Alcanando um sonho, assinado pelo Primeiro
Comissionado na inatividade, Edwin Cordero, Comissionado Major Haymin Gurdian, Chefe da
DAJ, e Carlos Emilio Lpez., Save Children, Editorial Criptos, Mangua, 2006, 200p.
4
Valle Martnez, Marco A. Desenho da emergncia policial 118 em Mangua, Instituto
Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), Mangua, 2001.
5
Informao sobre o Plano Gangues est na documentao da Delegao Departamental de
Mangua, entrevistas que efetuamos e, no texto citado na nota de rodap 4.
6
Projeto Segurana Cidad na Amrica Central, IIDH, 1999.
7
Informao geral sobre o projeto se pode encontrar em IIDH, Segurana Cidad na Amrica
Central: Diagnsticos da situao, Equipamento de Pesquisa do IIDH. San Jos, Costa Rica.
2000
8
Informe sobre las Relaciones Polica Comunidad. 1999.
9
Policas de Centroamrica, Informe especial del estudio y evaluacin de la actividad delictiva
de las pandillas y maras en Centroamrica, Diciembre 2003. Informe en power point; BID,
Crimen y violencia en Centroamrica, Washington, Seminario Mayo 24, 2007.; WOLA,
Pandillas juveniles en Centroamrica, Octubre 2006, Washington.
Um Relato sobre a Polcia Nacional e o Controle
da Delinqncia Juvenil na Nicargua
589
C
H
I
L
E
Relato Polcial
A RELAO COM A COMUNIDADE NA POLCIA
DE INVESTIGAES DO CHILE
Carlos Pino Torres
*
Nossas instituies policiais no esto isoladas nem se desenvolvem
em um mbito diferente das sociedades onde lhes corresponde atuar. As
polcias tambm esto expostas s mudanas de suas respectivas
sociedades. Hoje, enfrentamos delitos emergentes, prprios de nossa
globalizao ou transnacionalizaco, como a lavagem de dinheiro, o
narcotrfico e o cyber-crime, entre outros. A ltima dcada do sculo XX
trouxe consigo uma necessria modernizao, que no somente
informtica ou computacional, mas, principalmente, do capital humano.
Com efeito, transitamos de um paradigma da segurana, cuja principal
referncia era o Estado e a ordem pblica, a um que, sem abandonar as
referncias anteriores, tambm pe nfase na pessoa e no trabalho pblico
de nossa misso policial
1
Conforme afirmado, devemos assinalar que no Chile nossa vinculao
com a comunidade acontece em um ambiente de modernizao do Estado,
tal como ocorreu em um grande nmero de pases, em nvel latino-americano
e mundial. No obstante, as estratgias e tarefas aplicadas para cumprir os
objetivos esperados tiveram pouco sucesso, ou seus resultados foram
infrutferos, especialmente em instituies de longa trajetria. No geral,
existe uma resistncia mudana no interior das organizaes, em particular
sobre processos ou contedos novos, como direitos humanos, deontologia
policial, satisfao dos usurios, dilogos cidados, contas pblicas,
diagnsticos compartilhados, planejamento e avaliao do trabalho em
comunidade, extenso dos objetivos policiais a partir da aplicao da lei
para a preveno da criminalidade e da violncia, e a diminuio da percepo
de insegurana, entre outros. Alm disso, na atualidade no existe pleno
consenso sobre o formato (organizao) que deve adquirir uma polcia de
orientao comunitria, mas sim sobre que reas deveria desenvolver
2
.
Em outro mbito de uma modificao na relao Estado-
Comunidade, se outorga grande importncia s pessoas como elemento
principal de sua poltica social, motivando a participao cidad, com a
transparncia de suas autoridades e de todos os poderes do Estado para
com a sociedade (accountability). Sob esse novo palco, as polcias tm
*
Prefeito da Polcia de Investigaes do Chile; chefe da XII Regio Policial de Magallanes e
Antrtica Chilena.
590
uma grande responsabilidade no processo da gesto publica, devendo
responder de maneira clara e consistente s demandas que a sociedade impe.
Nos novos tempos que se avizinham, no podemos nos manter
cumprindo unicamente a misso primria e especfica de nossos afazeres
policiais: prevenir, controlar e investigar os delitos. Nosso trabalho j vai
mais alm. Devemos ser capazes de encontrar uma forma de termos uma
participao mais pr ativa e eficiente segurana humana, em conjunto
com a comunidade.
Uma boa forma de faz-lo atravs do policiamento comunitrio,
que implica a j mencionada reforma, intimamente ligada modernizao
policial, o retreinamento e a capacitao, para melhorar nossas habilidades
e destrezas, sermos mais competentes, com um olhar especial no que se
refere aproximao com a comunidade.
Essa interao com a comunidade representa nosso compromisso
com a sociedade, em termos de edificar alianas estratgicas com e para a
sociedade. A prxis nos demonstrou que para a segurana cidad esse um
fator primordial, cuja mxima preocupao gerar frmulas ou linhas de
ao integrais que balizem a criao de aproximaes com a comunidade
organizada, dirigidas preveno estratgica do delito, violncia e sensao
de insegurana.
Essa mudana de orientao na atuao policial possui, em essncia,
um valor diferenciado no conjunto das diferentes possveis solues aos
problemas de vulnerabilidade e risco, que representam a violncia e a
criminalidade para nossas sociedades latino-americanas. O policiamento
comunitrio permite enfrentar uma faceta hoje mais daninha que a prpria
delinqncia: a insegurana que se associa deteriorao do tecido social,
da perda de capital social, a desconfiana e o temor de ser vtima de um
delito ou de um fato violento. uma forma de dar mais poder comunidade
para enfrentar a soluo de seus problemas. um exerccio de
empoderamento da comunidade sobre sua organizao policial
3
.
Essa mudana para o policiamento comunitrio ser muito demorada,
enquanto no mudarmos significativamente nossa atitude no trabalho policial.
uma transformao que melhora substancialmente a gesto policial,
recuperando um valor bsico de todo Estado democrtico, como a
circunstncia em que nos envolvemos com a comunidade, ressaltando duas
A Relao com a Comunidade na Polcia
de Investigaes do Chile
591
reas: a primeira, um enfoque comunitrio de servios focalizado e, a
segunda, para resolver problemas. Tudo isso conjugado preveno,
proatividade, associao, ao servio policial personalizado,
descentralizao dos servios, resposta oportuna, tica e deontologia
policial, qualidade e eficcia policial, ao desenvolvimento de confiana,
reduo do temor e construo de comunidades mais fortes. Nesse rol,
a polcia procura envolver-se e construir uma aliana com ela
4
.
A instituio a qual represento, a Polcia de Investigaes do Chile,
no seu processo de modernizao e reengenharia considerou, na sua
qualidade de instituio que faz parte da administrao pblica, dois eixos
fundamentais para melhorar sua contribuio sociedade: a gesto de
qualidade e o servio comunidade. Nesse caso, se privilegiam as pessoas
e a funo policial de servio pblico, tendo como fim ltimo a proteo
dos direitos humanos, a melhoria e a ampliao do sentido de segurana,
como tambm a demarcao e fiscalizao das potencialidades da polcia,
que so elementos primordiais.
O fortalecimento da relao entre a polcia e a comunidade
concebida como uma forma de dar mais poder sociedade civil na soluo
de seus problemas, traduzindo-se em um empoderamento
(empowerment) dela sobre sua organizao policial.
Assim, desde 2004, depois de um processo de anlise quantitativo e
qualitativo, a Polcia de Investigaes do Chile inicia uma transio com um
olhar renovado, onde a misso original e os objetivos se conjugam. Tal
renovao est apoiada em um conjunto de iniciativas, tomando como base
cinco pilares fundamentais da gesto: o desenvolvimento organizacional, a
reengenharia dos processos de trabalho, os recursos humanos, os recursos
para possuir uma infra-estrutura que facilite a eficincia, e a informao.
Essa postura dirigida execuo efetiva dos preceitos e diretrizes do
Plano de Modernizao Institucional, denominado Plano Minerva, e busca
consolidar a instituio como uma Polcia de Alto Rendimento no Bicentenrio
da Independncia do Chile (2010), sendo sua referncia e objetivo final a
comunidade, aspirando a ser reconhecida como mais uma polcia crvel,
mais confivel e transparente, valorada pelo seu profissionalismo e solidez
tica e reconhecida pelos organismos nacionais e internacionais.
Para dar incio ao cumprimento desse compromisso, e com a
finalidade de estabelecer um aporte significativo ao desenvolvimento de
Carlos Pino Torres
592
lideranas comunitrias positivas, a Academia Superior de Estudos Policiais,
da Polcia de Investigaes do Chile, estruturou e coordenou, entre os meses
de agosto a novembro de 2004, a Primeira Diplomao de Preveno e
Segurana Cidad no Contexto da Reforma Processual Penal, da qual
participaram aproximadamente 50 docentes e lderes comunitrios de Cerro
Navia na Regio Metropolitana Santiago do Chile, evento patrocinado pela
Diviso de Segurana Cidad e Programa Comuna Segura, do Ministrio do
Interior do Chile. Da mesma forma, em maio do mesmo ano, aconteceu,
nas dependncias da Academia Superior, o Primeiro Seminrio sobre
Segurana Cidad e Contribuio das Igrejas Evanglicas ao Desenvolvimento
Social, com a assistncia de mais de 300 lderes religiosos e comunitrios,
cuja segunda verso foi realizada no final de 2005, tendo sido encerrado
pelo subsecretrio do Interior, representando o governo chileno.
necessrio ressaltar que para cumprir esse objetivo primordial
que a polcia elimine de sua cultura tradicional o isolamento e que provoque
uma aproximao com a comunidade, como parte do ethos policial. Essa
inevitvel mudana deve ser feita reconhecendo nossos interesses e
limitaes. Nesse caso, no se trata de um problema de poder ou de
autoridade, mas de considerar que fazemos parte de uma sociedade que
se inter-relaciona, tendo como base uma subcultura que copia maneiras
de pensar, hbitos e vises. Assim, devemos ser capazes de renovar nossa
gesto policial, e ter a vontade de aprender a desaprender hbitos e
costumes que no apontam aos novos propsitos e no desenvolvem
novas competncias.
Definitivamente, trata-se de modificar atitudes e pensamentos
obsoletos, assim como de condutas da cultura policial. Assim, preciso
assumir que trata-se de um processo longo e complicado, geracional,
subjetivo (perceptivo e doutrinal), estreitamente vinculado com orientaes
valricas, com incentivos para uma mudana proposta e impulsionada
desde dentro da polcia e tambm na sociedade.
EXPERINCIA DESTACADA POLCIA/COMUNIDADE
Projeto: Modelo Metodolgico Intersetorial Comunitrio (Momic)
O Momic uma iniciativa que procura apoiar integralmente os jovens
em risco social, canalizando a oferta pblica e privada, com o fim de gerar
oportunidades para esse grupo. Funciona atravs de um modelo sustentvel
A Relao com a Comunidade na Polcia
de Investigaes do Chile
593
de desenvolvimento, que procura ser uma contribuio para a
transformao social, fazendo confluir os esforos do Estado, da sociedade
civil e do empresariado, trs setores que normalmente no se relacionam
entre si, para trabalhar com e pelos jovens em risco social, por meio da
otimizao de recursos para a gerao de oportunidades. Seu trabalho
coordenado por um Conselho que se rene mensalmente para informar
os avanos do projeto e os problemas que foram gerados no seu
cumprimento.
Uma das linhas de ao do Momic gerar estratgias novas para a
preveno da delinqncia, articulando redes com jovens lderes que so
reconhecidos nas suas comunidades. Esses jovens, que so lderes positivos
dentro da comuna e que esto em risco social, porque vivem em um
territrio onde h pobreza e narcotrfico, querem trabalhar com seus
pares atravs de oficinas culturais e esportivas, gerando um espao para
enfrentar problemas tais como desemprego, delinqncia, alcoolismo e
dependncia de drogas, entre outros.
Caracterizao dos Jovens Momic
So jovens (52% de homens e 48% de mulheres), cuja faixa de idade
se concentra entre os 16 e 18 anos. Professam, principalmente, as religies
catlica (56%) e evanglica (30%). Vivem em famlias constitudas por cinco
pessoas, com uma renda mdia de US$250, provenientes de ofcios e
trabalhos do setor informal da economia (75%), o que se traduz em altos
nveis de pobreza (49% abaixo da linha de pobreza e 17% nas margens da
indigncia, o que equivale a 66% total de pobreza, considerando que os
34% restantes s esto 1.5 ponto sobre a linha de pobreza).
De acordo com essas caractersticas, as linhas de ao do modelo
basearam-se em potenciar o trabalho de semelhantes, legitimando os
lderes das trs Comunas que so parte da iniciativa, sendo fundamental o
papel que realizam as municipalidades de Pintana, Cerro Navia e Pudahuel,
com jovens em risco social, comunidades envolvidas, governo central,
Polcia de Investigaes, acadmicos, organizaes e instituies nacionais
e internacionais, e com o setor privado. Alm disso, possui cinco linhas
de trabalho definidas: educao, sade, psicossocial, trabalhista e justia,
coordenao e gesto, a seguir detalhados:
a) Linha Educao: Apresenta dois enfoques: o primeiro
faz aluso ao conceito de educao desde a escolarizao,
Carlos Pino Torres
594
nivelamento de estudos e sistema formal, enquanto o
segundo se refere formao e projetos de vida.
Esses dois enfoques definem os atores. O primeiro estimula a oferta
a partir dos governos locais e, o segundo, da a sociedade civil. Ao observar
a oferta concreta, a natureza dessa se desprende de programas de carter
escolar e, inclusive, com dimenses trabalhistas (o Chile Qualifica e Omil).
Por outro lado, a oferta de formao, pela sua natureza, surge desde as
capacidades da sociedade civil. Portanto, so programas novos.
Uma terceira leitura que os recursos, no ponto de vista dos custos do
primeiro enfoque, tm a ver com as estruturas oficiais. Entretanto, na perspectiva
da formao, os recursos dizem respeito composio de profissionais.
b) Linha Sade: A oferta fundamentada, em nvel local,
atravs dos consultrios, observando-se uma dupla
dimenso: a primeira de carter mais linear, aponta para o
acesso ao servio propriamente dito; a segunda, com um
carter transversal, relaciona-se com a formao setorial,
mas uma formao dirigida aos jovens, diferente da
formao localizada na linha Educao, onde o eixo so os
lderes. Dessa forma, observa-se maior dinamismo pela
necessidade de responder s necessidades dos jovens.
c) Linha Psicossocial: Esta dimenso se refere
fundamentalmente cultura juvenil, o que se expressa na
oferta em trs dimenses: o psicossocial dentro do espao
comunitrio e coletivo, o psicossocial da cultura juvenil e
os afazeres dos jovens e o psicossocial a partir o
desenvolvimento de habilidades sociais. Partindo de um
olhar transversal, relaciona, concreta e diretamente, a sua
articulao com a dimenso formativa. Portanto, a proposta
lida com elementos de identidade, cidadania, insero social,
etc.
d) Linha Trabalhista: Nessa linha, o eixo est nos governos
locais e na iniciativa privada. O enfoque trabalhista uma
linha que se articula com Educao, porque uma formao
para a vida profissional que se operacionaliza tanto a partir
da incorporao direta ao mundo do trabalho, como de
uma segunda dinmica, que a lgica de empreendimento
A Relao com a Comunidade na Polcia
de Investigaes do Chile
595
e negcios de incluso (PYMEs). O enfoque por trs disso
outorgar-lhe um valor acrescentado perspectiva
trabalhista e educacional dos jovens. Isto , certificar
competncias e no s oferecer emprego.
e) Linha Justia: A possibilidade de implementar essa linha
a partir da matriz Momic se sustenta na aliana estratgica
entre governo local e polcia, enfatizada em dois aspectos:
o tema da preveno (bate-papos de educao sexual,
formao de monitores de drogas, entre outras atividades)
e o tema do acesso justia.
A partir de um olhar transversal, articula-se com o psicossocial, no
ponto de vista da oferta (Comuna Segura, Mediaes, OPD), e com a
dimenso educativa, mas no seu eixo formativo, pelo seu carter preventivo.
f) Linha Coordenao e Gesto: Essa linha evidencia a
necessidade de suporte e mobilizao das linhas anteriores,
atravs do seguimento, acompanhamento, sistematizao
e gesto das iniciativas.
Para a Polcia de Investigaes do Chile, ser parte da iniciativa
materializou-se na participao ativa no Conselho Momic, representada
pela Academia Superior, espao de deliberao em que interagem todos
os atores. Alm disso, foram desenvolvidas atividades de formao, atravs
de uma Escola de Lderes e da participao no projeto Comuna Segura,
na Comuna de Pintana.
A Escola de Lderes um espao de formao de lideranas
comunitrias, em funo da iniciativa Momic, dirigido a jovens das comunas
de Pintana, Cerro Navia e Pudahuel, de modo a desenvolver competncias
e habilidades sociais, assim como destrezas e competncias tcnicas para
o trabalho, com jovens em risco social. Essa iniciativa rene 30 jovens na
Escola de Lderes, os quais recebero capacitao permanente, e 150
adolescentes, que participam das oficinas realizadas pelos guias, formados
para apresentar as ferramentas sociais, pessoais, educativas, culturais e
trabalhistas. Esses ltimos contam com o apoio das redes intersetoriais,
que compem o Conselho do Monic.
A Escola de Lderes ser complementada, na sua dimenso
psicossocial, por um projeto denominado Cuidando do meu bairro: jovens
Carlos Pino Torres
596
em movimento, com uma duraco de oito meses, a contar do ms de
xxx, que inclui dez jovens infratores da lei, com liberdade vigiada, em
contato com os jovens que j participam do Momic, para colaborar com
sua reincluso social. Os jovens conhecem a outra cara da moeda, j
que podem imergir no mago do trabalho policial. Da mesma forma, isso
tambm positivo para a Polcia de Investigaes do Chile, j que gera
um crdito de confiana com a comunidade.
A participao da Polcia de Investigaes no Conselho permite
interagir com os jovens lderes que participam da iniciativa e superar os
preconceitos sobre o papel das polcias, ao reconhec-los como atores,
convoc-los a uma escola de lderes e estar disposta a gerar espaos para
discutir temas de seus interesses. relevante destacar a realizao de
jornadas de trabalho na sede educacional da Escola de Investigaes, onde
se formam os futuros policiais, quando os jovens se familiarizam com o
local e acolhem positivamente a oferta de capacitao coloca disposio,
gerando uma conexo real com as autoridades policiais, reconhecendo
nestes o interesse em melhorar suas condies de vida, e no somente a
recorrente viso de represso, que gera distncia e desconfiana.
Nesse sentido, a incorporao da polcia na iniciativa permitiu
conhecer o discurso dos jovens sobre a relao com a polcia e suas
expectativas, sendo essencial para a criao de estratgias de preveno
e focalizao das aes com a participao da comunidade. Por exemplo:
os jovens Momic assinalam que os problemas mais importantes que os
afetam nas suas comunas dizem respeito ao consumo de drogas e lcool
(49%) e delinqncia (25%), que configuram um palco de violncia
urbana nas suas povoaes. Apesar dessa percepo, no ntimo dos jovens
Momic o principal problema que lhes afeta diretamente origina-se no
alcoolismo. Isso revelador, porque ns, como polcia, temos a
oportunidade de identificar as percepes e valoraes dos jovens sobre
seu ambiente e seus problemas, partindo de uma ptica reflexiva e
propositiva, no contexto de um modelo de interveno inter-setorial.
Notas
1
HERRERA V., Arturo y TUDELA P., Patricio, Modernizacin Policial: La relacin de la polica
con la comunidad como campo de gestin y referente de cambio en la Polica de Investigaciones
de Chile, publicado en Persona y Sociedad, Volumen XIX, N 1, Abril 2005, Santiago de Chile.
2
Op. Cit.
3
Op. Cit
4
Op. Cit.
A Relao com a Comunidade na Polcia
de Investigaes do Chile
597
A
R
G
E
N
T
I
N
A
Relato Policial
DUALIDADE ENTRE SEGURANA PBLICA E
PARTICULAR EM ESPETCULOS PBLICOS
Guillermo Nicolas Zalaya
*
1. A proposta substituir os policiais por pessoal de empresas de
segurana privada ou por empregados capacitados dos prprios clubes
ou por pessoal que estes contratem.
2. O apresentado, segundo o preceituado no Cdigo de Infraes
Municipais da Cidade de Crdoba REFORMA PARTE GERAL DOS
ESPETCULOS E SEUS LOCAIS, Disposio N 10.840, no seu Art.
31 DIZ: O sistema de segurana de todo espetculo pblico dever ser
contratado pelos organizadores junto Polcia da Provncia de Crdoba,
nas condies que a regulao estabelea. O pessoal policial uniformizado
cumprir funes na entrada dos locais ou em suas imediaes e, somente
no caso de necessidade, no interior do local. Para que prestem
servios dentro dos locais, ser necessrio optar pela contratao
de funcionrios de segurana particular, em cujo caso tero que
pertencer a agncias de segurana devidamente habilitadas ou polcias
adicionais. Do mesmo modo, a Lei N 9.236 REGIME DOS SERVIOS
DE PRESTAO PRIVADA DE SEGURANA, VIGILNCIA E
INVESTIGAO, em seu cap. 1, Objetivo e mbito de Aplicao, Art.
1: DIZ: Sero regidos pelas disposies da presente lei os servios de:
vigilncia direta e indireta, investigaes, custdia de pessoas e de bens
mveis, segurana interna em estabelecimentos industriais e comerciais,
em bens imveis pblicos e privados, em espetculos e outros eventos
ou reunies anlogas que forem prestados por pessoas fsicas ou jurdicas
privadas. Art. 2 DIZ: A vigilncia direta compreende a tarefa de custdia
de pessoas e coisas emprestadas em mbitos fechados ou abertos,
reunies pblicas ou particulares, espetculos, imveis pblicos ou
privados, sedes de estabelecimentos comerciais e industriais, de
instituies, custdia em locais de dana, bares, restaurantes e todo outro
lugar destinado recreao.
3. Como podemos ver, tanto o Cdigo de Infraes Municipal
como a Lei N 9.236 Regime dos Servios de Prestao Particular de
Segurana, Vigilncia e Investigao, facultam s empresas de segurana
*
Comissrio da Polcia da Provncia de Crdoba.
598
particular a cobertura de segurana em locais de bailes. Cabe destacar
que nos diferentes eventos de Rock a segurana interna coberta h
tempo por empresas de segurana privada, o que tem dado um resultado
muito bom, sendo utilizada a polcia para a cobertura externa e imediaes
dos locais, preservando a ordem pblica, ao que nos obrigamos.
4. apresentada continuao uma fundamentao:
Graas ao trabalho realizado pela Polcia Comunitria foram obtidos
dados que denotam um aumento nas condutas violentas de nossa
sociedade. Os conflitos tendem a se resolver de forma agressiva, no h
tempo para a negociao, nem tampouco foram encontrados mecanismos
para a soluo acordada dos problemas que se apresentam. Alguns setores
sociais apresentam uma marcada tendncia violao das normas, se
converteram em indivduos anmicos, no priorizam o respeito pelas
normas de convivncia, mas sim o contrrio, exalta-se a violao das
mesmas.
Essa tendncia, indicada no pargrafo anterior, traz necessariamente
conflitos inerentes. Os vnculos sociais, fundamentais para o crescimento
harmnico da sociedade, se deterioram, perde-se a confiana no
semelhante, prevalece a desconfiana e a sensao de insegurana.
O esquema de vida indicado traz como conseqncia que as
Instituies que tm por finalidade o controle, a preveno, a transmisso
de valores ligados segurana e o respeito mtuo s normas sociais
vigentes devem redobrar a sua ao para alcanar um espao comum de
convivncia social.
Mesmo esta problemtica tendo razes profundas neste espao
social, nos bailes onde se expressa, em ocasies, com marcada clareza
o que uma fonte de preocupao para a instituio Policial.
impossvel generalizar, mas muitos dos conflitos sociais so
observados com clareza e se resolvem nestes bailes; os atores ali
intervenientes transferem suas problemticas a um espao onde deveriam
estar presentes a diverso e o cio. Estamos na presena de uma
subcultura, entendendo pela mesma uma expresso cultural com cdigos
de convivncia e respeito particular. Essa subcultura em determinadas
oportunidades choca, lesa interesses, modos e costumes de outras
Dualidade entre Segurana Pblica e Particular
em Espetculos Pblicos
599
subculturas; surge ento o conflito.
Muitos dos pases que realizam adicionais nesse tipo de eventos tm
dificuldades para a correta interpretao destes cdigos de convivncia e
atuam a partir do preconceito e, mesmo sendo a sua funo a de dissuadir,
dispersar, evitar males maiores, s vezes, a sua conduta fomenta, de forma
inconsciente (entendendo por conduta desde a postura corporal, os gestos
que acompanham a mesma, comentrios etc.), reaes ou condutas
inapropriadas.
Tambm, por sua vez, em determinadas personalidades, ainda que
isto parea entrar em contradio com o pargrafo anterior, observa-se
uma identificao psicolgica, que acreditamos ser inconsciente, por parte
do pessoal da polcia com as atitudes, posturas, modos de relao dos que
ali comparecem. Deste modo, so detectadas condutas em grande parte
desaprovadas com relao ao que se espera dos policiais em sua funo de
preveno.
Por outro lado, muitos dos que freqentam os bailes tiveram
dificuldades com a lei penal ou contravencional, ou seja, tiveram um contato
prvio com a ao da polcia e esse contato, em geral, no aconteceu em
bons termos e, portanto, est rodeado de um contexto de crise e tenso.
A partir disso, tambm as suas idias esto baseadas em preconceitos sobre
o que a polcia significa para eles.
Este sistema de preconceitos se alimenta continuamente com qualquer
atitude dos integrantes. Tambm em uma sociedade marcada pela influncia
dos meios de comunicao, como a atual, estes meios de comunicao
potencializam os mecanismos e os transferem considerao social. Estamos
diante de diferentes subculturas que no tm um espao comum de
entendimento. Estas idias pr-concebidas, em geral, levam ao atrito e ao
enfrentamento, muitas vezes sem um fator motivador especfico. Esta
agressividade se expressa de muitas formas, dissimuladamente em crticas
veladas, gozaes, ou de forma explcita atravs da agresso franca.
Ento o que representa o policial nestes espetculos danantes? Na pgina
nove da revista antes mencionada e na mesma reportagem se afirma: Depois de
ter superado a fila de entrada e a revista policial e dentro, voc s entrega a
entrada, a polcia, a polcia, a polcia, voc est ao lado da pista a polcia...
Esse extrato do texto nos mostra que o policial no visto como a
autoridade, entendido como a pessoa que est ali para oferecer segurana,
Guillermo Nicolas Zalaya
600
proteger, mas sim o contrrio: ele visto como a figura persecutria, que
s tenta cercear a sua liberdade e capacidade de cio. Essa atitude est
presente a partir do prprio momento da entrada.
Muitos dos assistidos vem o policial como uma pessoa temida ou
como uma pessoa agressiva. A partir da se produzem muitas condutas,
velhos conflitos tornam-se atuais e se age passando ao ato. Entendendo
por ato a atuao da conduta sem levar em considerao os resultados da
mesma. Passa-se ao ato, falham os freios inibitrios. Devemos somar a
isso o fato de que muitas das pessoas que comparecem a este tipo de
espetculos consomem bebidas alcolicas em excesso ou substncias
estimulantes, o que potencializa estas condutas.
At o momento, temos o preconceito como fator motivador e o lcool
ou os estimulantes como propulsores da conduta. Devemos indicar outro
elemento que a conduta do indivduo dentro da massa. Est bem estudado
que um indivduo diante de uma situao similar apresenta diferentes condutas
no caso de encontrar sozinho ou em um grupo pequeno. As condutas da
massa indicam uma perda da identidade individual e o surgimento de uma
identidade coletiva. por isso que em um ambiente de euforia e entretenimento
as condutas coletivas, ou o humor da massa, podem mudar rapidamente, e
podem se transformar em uma conduta grupal violenta, fora de controle.
provvel, tambm, que essa conduta esteja focada rapidamente
em direo queles que so vistos ou sentidos nesse estado de
embotamento coletivo como culpveis de sua situao atual, (neste caso
o pessoal policial). Essas condutas poderiam ser desativadas com a presena
no interior destes espetculos de pessoas de segurana privada. Por qu?
Pelo indicado com anteriormente, esse crculo vicioso indicado seria
interrompido onde a autoridade vista como fonte de todos os males
que os afetam como pessoas e se age diante dela com agressividade e
violncia. O pessoal de segurana privada pode ser percebido como
algum que s est ali para cuidar e no um representante social com a
carga que lhe atribuda ao papel policial. Isso foi assimilado pela maioria
das bandas de rock que utilizam para seus espetculos ou recitais a
segurana particular, por exemplo, Los Redonditos de Ricota, que eles
mesmos treinam as pessoas que devem oferecer segurana aos assistidos.
Outro benefcio que se pode destacar que os conflitos que surgem
nesses espetculos danantes so plasmados nos meios de comunicao
Dualidade entre Segurana Pblica e Particular
em Espetculos Pblicos
601
de massa e tm uma ampla repercusso social. Quase sempre a valorao
que realizada da ao policial negativa e se critica o tratamento que se
dispensa s pessoas e o uso da fora empregada. Essas avaliaes desgastam
a confiana que a sociedade deve ter nas instituies de segurana e
tambm ataca a motivao do pessoal que deve cumprir a funo de
segurana nos mencionados espetculos.
Outro benefcio para a Instituio e para os seus integrantes que
por um lado se disporia, ao desvincular este servio da polcia, de mais
pessoal para cobrir as tarefas de segurana e preveno que a sociedade
reivindica diariamente. E por outro, lado os policiais teriam mais tempo
de descanso, maior possibilidade de integrao ao seu ncleo familiar.
Tudo isso resultaria em pessoas mais motivadas com a funo e uma
instituio mais eficiente em seu servio. Devemos mencionar que entre
sextas, sbados e domingos so disponibilizados entre 350 e 400 efetivos
somente na cobertura interna desses bailes.
Por outro lado, utilizando somente a quarta parte do pessoal
destinado a esses servios, para os operativos de preveno nas diferentes
reas, esses servios seriam otimizados, redundando em benefcio para a
instituio e de forma pessoal para nossos policiais, que gozariam de mais
horas livres nos finas-de-semana e feriados, com a repercusso em nvel
pessoal e familiar que isso significa.
CONCLUSO
O apresentado traria os seguintes benefcios:
INDIVIDUAIS: Por um lado o pessoal policial evitaria
situaes de conflito e agressividade com a sua seqela de
lesados ou feridos e os gastos mdicos e de recuperao
conseqentes.
INSTITUIO: A instituio disporia de pessoal com um
nvel de motivao e satisfao no trabalho maior.
SOCIAL: A avaliao social do policial melhoraria, evitando
que o policial seja o depositrio de todos os aspectos
negativos indicados. O servio ser efetuado com maior
profissionalismo e se poder destinar o pessoal dispensado
da funo para cumprir tarefas especficas de preveno.
Guillermo Nicolas Zalaya
602
Tambm diminuir a presso negativa que existe sobre a
instituio, causada pela avaliao negativa que os meios de
comunicao realizam sobre a ao policial nesses mbitos.
5. Sem dvida, esta seria uma mudana muito importante e benfica
para a nossa instituio policial, que como toda mudana trar
conjuntamente uma resistncia qual ns nos devemos sobrepor. De
todas as formas, e para que no seja to traumtica, esta nova
implementao de trabalho dever ser notificada aos empresrios
dedicados a este tema com a devida antecedncia, da nova modalidade de
cobertura de segurana, dando-lhes um prazo aproximado de trs meses
para que contratem com as diferentes empresas de segurana particular
o pessoal adequado para oferecer este servio, fazendo-lhes perceber
que lhes ser oferecido todo o assessoramento necessrio para a sua
implementao.
Dualidade entre Segurana Pblica e Particular
em Espetculos Pblicos
603
B
R
A
S
I
L
Relato Policial
A ATUAO DA POLCIA NO BAIRRO RESTINGA
BREVE ANLISE
Carmen Isabel Andreola
*
O objetivo da anlise mostrar, atravs das aes de polcia
desenvolvidas pela 2 Cia de Polcia Militar do 21BPM, no bairro Restinga,
que, apesar de desenvolver significativo trabalho comunitrio, suas aes
de represso ao crime seguem os padres dos demais Batalhes de Polcia,
ou seja, atuaes fragmentadas e individualizadas, que pouco contribuem
para a melhoria das condies de segurana daquela comunidade. preciso
mudar esse quadro.
A 2 Companhia de Polcia Militar pertence ao 21 Batalho Polcia
Militar e sua rea de atuao basicamente o bairro Restinga.
O bairro Restinga iniciou sua povoao em meados dos anos 1970 a
partir de loteamentos planejados pelo Departamento Municipal de Habitao
(DEMHAB). A Prefeitura de Porto Alegre, atravs do DEMHAB,
implementou polticas de remoo de favelas espalhadas pela cidade e
transferiu seus habitantes para a Restinga, localizada cerca d 22 Km de
Porto Alegre. A paisagem caracteriza-se pela presena de cavalos, carros
de boi e pelas figueiras preservadas pelos moradores que do ao local uma
impresso de zona rural, muito embora em sua avenida principal ocorram
acidentes e atropelamentos como em qualquer outro bairro da cidade.
Hoje, o bairro Restinga um dos mais populosos da cidade,
apresenta grande vulnerabilidade social. Est entre os bairros onde
ocorrem o maior nmero de homicdios. A ambivalncia das polticas de
urbanizao dividiu a Restinga em duas reas: a Nova e a Velha, separadas
pela avenida principal do bairro.
O espao denominado Restinga Nova, relativamente estruturado,
possui ruas caladas, rede de gua e esgotos, iluminao e apresenta
problemas de segurana comuns a um bairro de periferia. J na Restinga
Velha, a infra-estrutura muito precria, pois a maioria dos loteamentos
so invadidos. A principal caracterstica deste lado do bairro a intensa
*
Oficial da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
atividade de grupos que compram e estocam drogas. A populao
envolvida nessa atividade composta principalmente por jovens entre 10
604
e 24 anos de idade, que se submetem a esse tipo de atividade por absoluta
fala de opes e oportunidades. Esses grupos controlam seus territrios
porque esto fortemente armados. Seus integrantes so da prpria
comunidade e, por isso, acabam sendo protegidos pela chamada Lei do
Silncio.A presena do Estado no local quase inexistente e a comunidade
acaba se apoiando mais nos traficantes do que no prprio Estado para a
resoluo de seus problemas.
O bairro possui uma territorialidade espacial e social marcada pela
diferena e pelo estigma. A comunidade devido a esses fatores organizada
e luta por melhores condies de vida, criando mecanismos de proteo
constitudos por cidados que trabalham com hip-hop, mdias alternativas,
promotoras legais populares, enfim, atividades alternativas que contribuem
para melhor ocupao do tempo e diminuio da violncia no bairro. Todas
essas iniciativas tm o apoio e participao dos integrantes da 2 Cia do
21BPM, seja em debates ou prestando segurana nos locais dos eventos.
Da mesma forma, esteve sempre presente na construo de alternativas
para a melhoria das condies de vida do bairro, tais como a manuteno
do atendimento da unidade de sade 24 Hs., pois a ULBRA ( Universidade
Luterana ) que prestava esse atendimento, retirou suas equipes por discordar
das condies de trabalho impostas pela prefeitura. Na ocasio, as
associaes de bairro, o 21 BPM, atravs da 2 Cia, a polcia civil, o poder
legislativo(representado por vereadores)e at o Poder judicirio
(representado pela juza ) uniram-se e, num curto espao de tempo
conquistaram a permanncia do atendimento 24 Hs., no com a ULBRA,
mas com o Hospital Moinhos de Vento.
O que se quer mostrar com esse exemplo que a 2 Cia do 21
BPM desenvolve seu trabalho promovendo aes conjuntas tanto com a
comunidade quanto com os demais rgos do Estado presentes na
comunidade. No entanto, quanto s aes de represso ao crime, a 2 Cia
sofre todas as limitaes impostas pela conjuntura atual, e pouco ou nada
contribui para a melhoria das condies de segurana desta comunidade.
Nesse sentido, a Conferncia das Naes Unidas sobre
assentamentos humanos A Habiat 2 - (1996), ocorrida em Istambul
(Turquia ), foi a ltima promovida pela ONU que iniciou em 1990 uma
Cpula Mundial sobre a Infncia , Cpula da Terra ( Rio 92 ), conferncia
sobre direitos humanos (Viena 93),Conferncia sobre populao e
A atuao da polcia no bairro Restinga
605
desenvolvimento(Cairo 94), Cpula Social Mundial(Copenhague 95) e a
Conferncia Mundial sobre Mulheres(Pequim 95). O evento tentou
encontrar solues para problemas de assentamentos humanos
sustentveis. Dentre os indicadores apontados est : - A compreenso
sociolgica da funo social da polcia no agregado urbano.
A funo social da polcia precisa ser ampliada. A sociedade
reivindica uma ao mais decisiva no atendimento de suas necessidades
bsicas de segurana.
Para exemplificar, vejamos um atendimento realizado pela 2 Cia, a
captura de um foragido por porte ilegal de armas, na Restinga Velha. Ao
analisar o histrico da ocorrncia, no se pode deixar de fazer o seguinte
questionamento: - a captura deste indivduo melhorou as condies de
segurana daquela comunidade? O indivduo em questo tinha 17 anos,
morava com a av que por sua vez abrigava no casebre a neta com um
filho de 07 anos. Nenhum dos moradores da casa tinha emprego. O
sustento de todos era mantido por esse adolescente , que prestava servios
a um dos grupos de traficantes da vila. Em que pese a ao ilegal cometida
pelo adolescente, porte ilegal de armas, a ao da polcia foi eficiente, mas
no eficaz, na medida em que esse adolescente substitudo em sua funo
por outro, pois h recurso humano suficiente para este fim. Por outro
lado, o grupo familiar ao qual o adolescente pertence, fica sem condies
de suprir suas necessidades bsicas, uma vez que o Estado ausente
Verifica-se nesse exemplo tambm, a evidente desagregao familiar
presente nessa e na maioria dos casebres da vila . No h mais a presena
do pai e da me. A av abriga os filhos dos filhos e a cada gerao, as
oportunidades diminuem e a chances de excluso aumentam.
Verifica-se tambm que a opo feita pelo adolescente visa to
somente a suprir as necessidades mnimas de sobrevivncia do grupo
familiar, a julgar pelas condies precrias de moradia em que vive.
Assim, verifica-se que mesmo desenvolvendo um forte trabalho
comunitrio no bairro Restinga, a 2 Cia de Polcia Militar, no atendimento
de ocorrncias e represso ao crime, segue os padres adotados pelos
demais batalhes.
A atividade policial, como atualmente concebida, relativamente
nova, especialmente se levarmos em conta que o exerccio do policiamento
Carmen Isabel Andreola
606
ostensivo, planejado e executado pela Polcia Militar, ocorreu no final da
dcada de 1960. A Polcia Militar ainda busca firmar-se no exerccio desta
atividade e, acima de tudo, necessita construir uma identidade prpria e
definir claramente suas funes.
urgente a necessidade de mudana. As corporaes precisam
organizar e planejar estrategicamente suas prticas policiais. preciso
pensar em aes conjuntas com os demais rgos do Estado, e que do
suporte segurana pblica . preciso unificar condutas e informaes
para o enfrentamento da violncia, com qualidade e eficcia, assim
poderemos estar melhorando as condies de vida dessas comunidades.
Referncias Bibliogrficas
Gonalves, Cleber J. S. Violncia urbana e a funo social da polcia - Uma rediscusso sociolgica
necessria. Revista Unidade, n 3, p 46 a 56, Jul/ Set 1999. Dal Molin, Fbio Resumo da tese
Redes sociais micropolticas da juventude UFRGS 2007
Mattona, Cludio e outros. O custo da violncia urbana tem relao com a eficincia da
polcia?. Revista Unidade. N 61- p.05 a 18 n Jan/abr 2007.
Guimares, Luiz Antnio Brenner. A prefeitura de Porto Alegre e a Segurana Urbana. Pg 06 a
09. 2 impresso. Nov de 2004
A atuao da polcia no bairro Restinga
607
ANEXO
RECOMENDAES PARA O USO DIDTICO DESTE LIVRO
Esta publicao consiste prioritariamente num livro didtico que
serve como referncia pedaggica para o Curso de Liderana para o
Desenvolvimento Institucional Policial. Por se tratar de uma ferramenta
didtica, recomendamos observar a metodologia adotada como sugesto
para a sua utilizao como recurso de aprendizagem.
A iniciativa do Curso destaca o papel central de trs importantes
protagonistas institucionais relacionados temtica da segurana pblica:
o Estado, a Polcia e a Sociedade.
Nesse contexto, buscou-se desenvolver um novo conceito
metodolgico baseado num processo didtico-pedaggico de orientao
construtivista que ambiciona aproximar o universo das teorias cientficas
sobre segurana pblica da prtica institucional desenvolvida pelas
organizaes policiais na Amrica Latina.
O pblico principal deste curso composto por policiais que
exercem ou j exerceram alguma funo dirigente e integrante de
organizaes da sociedade civil que desenvolvem projetos junto s polcias.
Foi organizado para funcionar durante o perodo de cinco dias, com
quarenta horas de carga horria, de acordo com a seguinte estrutura:
a) conferncia de abertura versando sobre os principais
desafios da reforma das instituies policiais na Amrica
Latina;
b) oficinas temticas sobre os contedos programticos
pr-selecionados e tratados nos artigos e comunicaes
elaborados por pesquisadores e especialistas da Amrica
Latina
1
;
c) painis sobre temas contemporneos e de interesse
com a participao de especialistas previamente convidados;
e
d) apresentao dos casos elaborados e relatados por
policiais.
608
O desenvolvimento do contedo programtico priorizou a
construo dialgica do conhecimento atravs das oficinas temticas nas
quais os seus integrantes, especialmente os policiais, assumem um papel
de protagonistas na conduo e produo das reflexes. Por esta razo,
todo o material pedaggico publicado neste livro encaminhado com
uma razovel antecedncia aos participantes para que tenham tempo
suficiente para uma leitura crtica, elaborao de notas, observaes, etc.
As oficinas temticas so conduzidas por um moderador(a)
responsvel, no primeiro momento, por apresentar os principais pontos
contidos nos artigos e comunicaes relacionados ao tema explorado.
Em seguida, o moderador(a) prope um breve conjunto de indagaes
sobre a temtica que ser debatida pelos grupos de trabalho, constitudos
por policiais e representantes da sociedade civil. Encerrada a discusso
dirigida, na ltima etapa da oficina, os diversos grupos constitudos expem
suas concluses que sero organizadas e sistematizadas para divulgao
ao final do curso.
Outro espao fundamental de intercmbio de conhecimentos e
experincias se d na apresentao dos casos propostos pelos policiais,
que so organizados em blocos de duas a quatro apresentaes por vez,
de acordo com a afinidade temtica entre eles. Esta parte do curso de
fundamental importncia, uma vez que constitui um espao aberto e plural
de convivncia e articulao das reflexes sadas das oficinas com as
questes concretas vividas pelos integrantes do curso em suas atividades
profissionais. Tais apresentaes so moderadas pelos prprios
participantes do curso e acompanhadas por debates.
Por fim, so organizadas visitas tcnicas a programas, experincias
em curso, em conformidade com as questes tratadas e que atendem ao
interesse e curiosidade dos policiais. Estas visitas marcam o encerramento
do curso, momento em que os participantes recebem os seus certificados
e a inscrio como membros da Rede de Policiais e Sociedade Civil na Amrica
Latina.
Aps a realizao do curso, os policiais e representantes da
sociedade civil continuam o processo de interao em ambiente virtual
dentro do portal www.comunidadesegura.org. Neste espao so
promovidos regularmente fruns e chats, que priorizam debater temas
Anexo
609
escolhidos sob consulta e que refletem o interesse imediato dos integrantes
da Rede. Ao longo de 2007, por exemplo, foram priorizados os seguintes
temas: a relao entre polcia e juventude, a atuao policial em favelas e o
fenmeno das foras paramilitares e/ou milicianas na Amrica Latina.
O processo de troca e construo de saberes e prticas, inaugurado
com o curso e mantido pelas interaes virtuais, tambm se beneficia de
um programa de visitas de estudos e de intercmbio institucional entre
policiais que compem a Rede com durao de uma semana. No ano de
2007, os selecionados puderam conhecer instituies policiais,
organizaes da sociedade civil, alm de universidades e centros de
pesquisa nos pases visitados
2
.
O acervo de conhecimentos e experincias profissionais de todos
os participantes constituiu o principal recurso de intercmbio e de
aprendizagem explorado nesta proposta metodolgica.
Por esta razo o curso pretende representar muito mais do que
uma proposta tradicional com vista capacitao profissional. Visa ser a
expresso de um espao participativo de reflexo crtica, discusso e
aprofundamento de questes que dialogam diretamente com as distintas
vivncias, vises e experincias dos lderes policiais selecionados.
Esperamos, efetivamente, que esta contribuio sirva como subsdio
para futuros cursos promovido pela Rede, e tambm como material de
trabalho disponvel a todos os policiais, centros de pesquisa, universidades
e organizaes da sociedade civil que o desejarem utilizar.
Notas
1
Listados na apresentao deste livro.
2
Os roteiros destas visitas so organizados com a colaborao dos membros da rede que so
visitados e que atuam como cicerones de seus pares. Como contrapartida, os policiais selecionados
para o intercmbio realizam palestras, conferncias etc. Assim como elaboram um dirio de
viagem com suas observaes e, ao final da viagem, produzem um breve relatrio tcnico de suas
impresses, que distribudo a todos os integrantes da Rede.
Recomendaes para o uso didtico deste livro
Você também pode gostar
- Quase CidadãoDocumento35 páginasQuase Cidadãoalgoz36Ainda não há avaliações
- EM BUSCA DO BRASIL - Cópia PDFDocumento382 páginasEM BUSCA DO BRASIL - Cópia PDFThalles SoaresAinda não há avaliações
- Fichamento A Era Dos DireitosDocumento2 páginasFichamento A Era Dos DireitosThais Kétura Borges de LimaAinda não há avaliações
- A Caminhada de TanyxiweDocumento953 páginasA Caminhada de TanyxiwejjualmeidaAinda não há avaliações
- Para Uma Concepcao Intercultural Dos Direitos HumanosDocumento59 páginasPara Uma Concepcao Intercultural Dos Direitos HumanosJackson WinstonAinda não há avaliações
- A Insegurança Social - o Que É Ser Protegido PDFDocumento3 páginasA Insegurança Social - o Que É Ser Protegido PDFJusdewbe M. QueirozAinda não há avaliações
- Direitos Humanos - Coisa de PoliciaDocumento40 páginasDireitos Humanos - Coisa de PoliciaCristiano GuedesAinda não há avaliações
- Wintouch.v560 (Boletim Técnico)Documento129 páginasWintouch.v560 (Boletim Técnico)Zeca BinoAinda não há avaliações
- O Acto Definitivo e ExecutórioDocumento7 páginasO Acto Definitivo e ExecutórioAmerico SilvaAinda não há avaliações
- Relatório Final Do Projeto Conflitos e Repressão No Campo No Estado Do Rio de Janeiro (1946-1988)Documento956 páginasRelatório Final Do Projeto Conflitos e Repressão No Campo No Estado Do Rio de Janeiro (1946-1988)Fabricio TelóAinda não há avaliações
- Cosmologia e Sociedade KarajaDocumento280 páginasCosmologia e Sociedade Karajajjualmeida100% (1)
- Estratégias de Desenvolvimento Nacional e Capital Estrangeiro (Fabio Antonio de Campos)Documento236 páginasEstratégias de Desenvolvimento Nacional e Capital Estrangeiro (Fabio Antonio de Campos)Fernando Henrique100% (1)
- Análise Antropológica Do Texto Cosmologias Do Capitalismo de Marshall SahlinsDocumento12 páginasAnálise Antropológica Do Texto Cosmologias Do Capitalismo de Marshall SahlinsFrederico Custodio Pinheiro SilvaAinda não há avaliações
- Nos Tumbeiros Mais Uma Vez. O Comércio Interprovincial de Escravos No BrasilDocumento40 páginasNos Tumbeiros Mais Uma Vez. O Comércio Interprovincial de Escravos No BrasilGustavo Almeida100% (1)
- CAPÍTULO 4 Os Indígenas Na Fundação Da Colônia Uma Abordagem Crítica 1.1Documento44 páginasCAPÍTULO 4 Os Indígenas Na Fundação Da Colônia Uma Abordagem Crítica 1.1Evellyn AlbernazAinda não há avaliações
- DalPoz2001-Tapirape-Laudo 3va-2302Documento100 páginasDalPoz2001-Tapirape-Laudo 3va-2302João Dal Poz100% (1)
- Das Categoria Do Capital À Vida CotidianaDocumento351 páginasDas Categoria Do Capital À Vida Cotidianamourastga100% (1)
- Plano de Ensino - Antropologia JuridicaDocumento3 páginasPlano de Ensino - Antropologia Juridica1513110% (1)
- Ensaios de Antropologia BrasilianaDocumento21 páginasEnsaios de Antropologia BrasilianaVanderlei de SouzaAinda não há avaliações
- Human Rights Violations in The Amazon Conflict and Violence in The State of Pará, BrazilDocumento183 páginasHuman Rights Violations in The Amazon Conflict and Violence in The State of Pará, BrazilAntifaaAinda não há avaliações
- Da-Rin, Silvio-Luís Tomás Reis e Silvino SantosDocumento29 páginasDa-Rin, Silvio-Luís Tomás Reis e Silvino Santososcarguarin100% (1)
- Povos Indígenas e Relações de Poder PDFDocumento512 páginasPovos Indígenas e Relações de Poder PDFPam LilithAinda não há avaliações
- TESE - Luis Flavio - Versão 24-07 1 PDFDocumento241 páginasTESE - Luis Flavio - Versão 24-07 1 PDFPEDRO ALCANTARAAinda não há avaliações
- A Informação GoyanaDocumento1.923 páginasA Informação GoyanaDaniel Rincon CairesAinda não há avaliações
- Apresentação Weber, Max. Relações Comunitárias ÉtnicasDocumento6 páginasApresentação Weber, Max. Relações Comunitárias Étnicassucamattos2454100% (1)
- A História Da Riqueza Do HomemDocumento21 páginasA História Da Riqueza Do HomemCaiomullAinda não há avaliações
- Cartilha Direito À Cidade Plataforma DhescaDocumento27 páginasCartilha Direito À Cidade Plataforma DhescaThales LimaAinda não há avaliações
- Oqueler2 0 - Desconhecido PDFDocumento334 páginasOqueler2 0 - Desconhecido PDFMarco Paulo BernardinoAinda não há avaliações
- José Sérgio Leite Lopes - Lygia Sigaud (1945-2009)Documento4 páginasJosé Sérgio Leite Lopes - Lygia Sigaud (1945-2009)João DiasAinda não há avaliações
- Revista Entrerios - Warao - 2020Documento227 páginasRevista Entrerios - Warao - 2020Ana Letícia de FioriAinda não há avaliações
- A Reinvenção Do Territórios Na América Latina - Abya YalaDocumento95 páginasA Reinvenção Do Territórios Na América Latina - Abya Yala0000SCRIBD0000Ainda não há avaliações
- (Livro) Roquette-Pinto - Ensaios BrasilianosDocumento258 páginas(Livro) Roquette-Pinto - Ensaios BrasilianosPatrick Silva Dos SantosAinda não há avaliações
- Modos de Vida Dos Ribeirinhos Da Amazônia Sob Uma Abordagem BioculturalDocumento7 páginasModos de Vida Dos Ribeirinhos Da Amazônia Sob Uma Abordagem BioculturalMarceloAinda não há avaliações
- Fernanda Sposito - A Liberdade Dos Indígenas No Império Do Brasil PDFDocumento15 páginasFernanda Sposito - A Liberdade Dos Indígenas No Império Do Brasil PDFEdwin TavesAinda não há avaliações
- PGTAMARAIDocumento84 páginasPGTAMARAIBrunoBarretoAinda não há avaliações
- Cardoso de Oliveira Roberto Sobre o Pensamento Antropologico Cap1 3Documento8 páginasCardoso de Oliveira Roberto Sobre o Pensamento Antropologico Cap1 3João Neto100% (1)
- 3-A Morte Por Jejuy Entre Os Guarani Do Sudoeste Brasileiro - Miguel Vicente FotiDocumento28 páginas3-A Morte Por Jejuy Entre Os Guarani Do Sudoeste Brasileiro - Miguel Vicente FotiAlani BenvenuttiAinda não há avaliações
- Tese HernanDocumento340 páginasTese Hernanhernán_mamani_3Ainda não há avaliações
- Homenagem A Lygia SigaudDocumento129 páginasHomenagem A Lygia SigaudDiego AmoedoAinda não há avaliações
- Tese Ana Stela PDFDocumento202 páginasTese Ana Stela PDFLeo RockatanskyAinda não há avaliações
- Costa, Ana Paula. Escravos ArmdosDocumento371 páginasCosta, Ana Paula. Escravos ArmdosAna Paula Souza RodriguesAinda não há avaliações
- O Projeto de Nação Do Governo Joao GoulartDocumento406 páginasO Projeto de Nação Do Governo Joao GoulartDiogo Oliveira SantosAinda não há avaliações
- "Escravos Da Nação" o Público e o Privado Na Escravidão Brasileira (1760 - 1876)Documento21 páginas"Escravos Da Nação" o Público e o Privado Na Escravidão Brasileira (1760 - 1876)Gabriel DominguesAinda não há avaliações
- Tese Ana Maria DietrichDocumento301 páginasTese Ana Maria Dietrichswastika88Ainda não há avaliações
- Repressão e Memória Política No Contexto Ibero-Brasileiro: Estudos Sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e PortugalDocumento284 páginasRepressão e Memória Política No Contexto Ibero-Brasileiro: Estudos Sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e PortugalCássio Rebouças de Moraes100% (1)
- Diversidade Do Campesinado Vol1 NEADDocumento338 páginasDiversidade Do Campesinado Vol1 NEADCarolina NiemeyerAinda não há avaliações
- Aba - Anais Da Xxiv RbaDocumento596 páginasAba - Anais Da Xxiv RbaThiago OliveiraAinda não há avaliações
- A Pobreza Da Moralidade - Daniel MillerDocumento28 páginasA Pobreza Da Moralidade - Daniel MillerVanessa Dos Santos NogueiraAinda não há avaliações
- Paulo Roberto Alves Do MR-8Documento8 páginasPaulo Roberto Alves Do MR-8WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVA100% (1)
- BOURDIEU, Pierre. Descrever e Prescrever: Nota Sobre As Condições de Possibilidade e Os Limites Da Eficácia PolíticaDocumento5 páginasBOURDIEU, Pierre. Descrever e Prescrever: Nota Sobre As Condições de Possibilidade e Os Limites Da Eficácia PolíticamateusfilippaAinda não há avaliações
- Povos Indigenas No PernambucoDocumento22 páginasPovos Indigenas No PernambucoBianca MonfardiniAinda não há avaliações
- Terras Indígenas e Judiciário - ELOY TERENADocumento32 páginasTerras Indígenas e Judiciário - ELOY TERENALuiz Henrique Eloy AmadoAinda não há avaliações
- 13 - Ok - Capitulo de Livro - Retomadas PPGADocumento21 páginas13 - Ok - Capitulo de Livro - Retomadas PPGAKelly OliveiraAinda não há avaliações
- Anúncios de Escravos Do Jornal Da Victoria (1864-1869) - Heloisa Souza FerreiraDocumento14 páginasAnúncios de Escravos Do Jornal Da Victoria (1864-1869) - Heloisa Souza FerreiratemporalidadesAinda não há avaliações
- A Antropologia e A Esfera Pública No Brasil PDFDocumento666 páginasA Antropologia e A Esfera Pública No Brasil PDFElaine Andreatta100% (1)
- Bruce Albert o Ativismo EtnográficoDocumento15 páginasBruce Albert o Ativismo EtnográficoEwerton M. LunaAinda não há avaliações
- A expansão do capital e as dinâmicas das fronteirasNo EverandA expansão do capital e as dinâmicas das fronteirasAinda não há avaliações
- Direito e Justiça na Amazônia: A Força dos Movimentos SociaisNo EverandDireito e Justiça na Amazônia: A Força dos Movimentos SociaisAinda não há avaliações
- REMINISCENCES OF A DOCTOR IN LIVING WITH AMAZONIAN AND CENTER-WEST INDIAN PEOPLE DURING 55 YEARS (1965-2020): Translated by FRED SPAETINo EverandREMINISCENCES OF A DOCTOR IN LIVING WITH AMAZONIAN AND CENTER-WEST INDIAN PEOPLE DURING 55 YEARS (1965-2020): Translated by FRED SPAETINota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Ação Popular em Mauá: Resistência e Solidariedade em Tempos de DitaduraNo EverandAção Popular em Mauá: Resistência e Solidariedade em Tempos de DitaduraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- México-Brasil: Paisagem e Jardim como Patrimônio CulturaNo EverandMéxico-Brasil: Paisagem e Jardim como Patrimônio CulturaAinda não há avaliações
- Formação do Estado e Horizonte Plurinacional na BolíviaNo EverandFormação do Estado e Horizonte Plurinacional na BolíviaAinda não há avaliações
- Círculo De FerroNo EverandCírculo De FerroAinda não há avaliações
- Derad 015Documento128 páginasDerad 015Anonymous ZC1ld1CLmAinda não há avaliações
- Contrato GS1 BrasilDocumento7 páginasContrato GS1 Brasildbx.expedicaoAinda não há avaliações
- REDUÇÃO DE DANOS E UTOPIAS PIRATAS A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS NA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS EM PORTO ALEGRE - RemumenDocumento112 páginasREDUÇÃO DE DANOS E UTOPIAS PIRATAS A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS NA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS EM PORTO ALEGRE - RemumenGastón AmenAinda não há avaliações
- Alfredo BatistaDocumento267 páginasAlfredo Batistamulavieja0% (1)
- As Relações Entre A Inteligência e A Vontade em Santo Tomás de AquinoDocumento8 páginasAs Relações Entre A Inteligência e A Vontade em Santo Tomás de AquinoAntonio Janunzi NetoAinda não há avaliações
- Da Extensão Rural A Construção Social Do Conhecimento - Um Desafio para o Desenvolvimento Local Sustentável. Valdemar Arl, Olivo Dambrós (Ceagro, 2015)Documento568 páginasDa Extensão Rural A Construção Social Do Conhecimento - Um Desafio para o Desenvolvimento Local Sustentável. Valdemar Arl, Olivo Dambrós (Ceagro, 2015)praticaradicalAinda não há avaliações
- JACOBIN 02 BX Vz5yzlDocumento143 páginasJACOBIN 02 BX Vz5yzlLuiz Carlos Junior100% (1)
- O Ministério Público em Timor-LesteDocumento3 páginasO Ministério Público em Timor-LesteMarcolino OliveiraAinda não há avaliações
- Fichamento As Grandes Cidades - SimmelDocumento4 páginasFichamento As Grandes Cidades - SimmelPaulo FonsecaAinda não há avaliações
- Livro Italiano Sobre Os 13 Pontos Do DemônioDocumento31 páginasLivro Italiano Sobre Os 13 Pontos Do DemônioRosely Modesto100% (1)
- Mármore e Granito-Histórico e EvoluçãoDocumento4 páginasMármore e Granito-Histórico e EvoluçãoAurelio FernandesAinda não há avaliações
- Homeopatia QuânticaDocumento9 páginasHomeopatia QuânticaluidgiAinda não há avaliações
- Tema 6 Pensamento Vincular 2019.1Documento9 páginasTema 6 Pensamento Vincular 2019.1kailoAinda não há avaliações
- Planejando Petição On-Line - Planos de Aula - 9º Ano - Língua PortuguesaDocumento11 páginasPlanejando Petição On-Line - Planos de Aula - 9º Ano - Língua PortuguesaDaniel CamposAinda não há avaliações
- Movimento de BostonDocumento18 páginasMovimento de BostonIsvonaldo de Omena QueirozAinda não há avaliações
- T Questão-01 - (Unimontes MG/2004)Documento203 páginasT Questão-01 - (Unimontes MG/2004)Jordyr SouzaAinda não há avaliações
- 14-Texto Do Artigo-83-2-10-20201123Documento27 páginas14-Texto Do Artigo-83-2-10-20201123XXXAinda não há avaliações
- História Da Educação BrasileiraDocumento137 páginasHistória Da Educação BrasileiraBeatrix AlgraveAinda não há avaliações
- Siope - Caderno de Estudos CompletoDocumento224 páginasSiope - Caderno de Estudos CompletoFrancisco Marcio Braga Araujo100% (1)
- Sobre Nicholas CulpeperDocumento48 páginasSobre Nicholas Culpeperangelica ferroniAinda não há avaliações
- Departamento de Economia e Relações Internacionais: Plano de Ensino 1. IdentificaçãoDocumento4 páginasDepartamento de Economia e Relações Internacionais: Plano de Ensino 1. IdentificaçãoJota FarinhaAinda não há avaliações
- PontodosConcursos Consulplan Redação MAPADocumento6 páginasPontodosConcursos Consulplan Redação MAPATatiane CostaAinda não há avaliações
- Apostila Teorias e Fundamentos Da ComunicaçãoDocumento12 páginasApostila Teorias e Fundamentos Da ComunicaçãoRo ZimmermannAinda não há avaliações
- O Positivismo em Émile DurkheimDocumento26 páginasO Positivismo em Émile DurkheimJacinto Dos SantosAinda não há avaliações
- Aula Atividade AlunoDocumento5 páginasAula Atividade Alunobonfim pabulo dias luzAinda não há avaliações