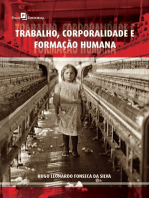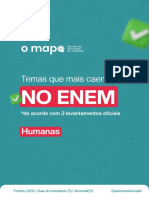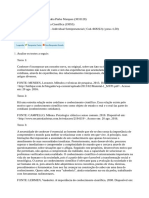Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Gestao Publica Sociedade Vol 1
Gestao Publica Sociedade Vol 1
Enviado por
Clarice Libânio0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações480 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações480 páginasGestao Publica Sociedade Vol 1
Gestao Publica Sociedade Vol 1
Enviado por
Clarice LibânioDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 480
Gesto pblica e sociedade:
fundamentos e polticas pblicas
de economia solidria
volume I
di A. Benini
Maurcio Sard de Faria
Henrique T. Novaes
Renato Dagnino
(Organizadores)
Gesto pblica e sociedade:
fundamentos e polticas pblicas
de economia solidria
volume I
di A. Benini
Maurcio Sard de Faria
Henrique T. Novaes
Renato Dagnino
(Organizadores)
1 edio
Outras Expresses
So Paulo 2011
Copyright 2011, Outras Expresses
Reviso: Maria Elaine Andreoti e Marina Tavares
Digitalizao: Amancio L. S. dos Anjos
Capa, projeto grfico e diagramao: Krits Etdio
Impresso: Cromosete
Secretaria Nacional da Economia Solidria (Senaes)
Ministrio do Trabalho e Emprego
www.mte.gov.br
Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste livro pode ser utilizada
ou reproduzida sem a autorizao da editora.
1 edio agosto de 2011
EDITORA OUTRAS EXPRESSES
Rua Abolio, 201 Bela Vista
CEP 01319-010 So Paulo SP
Fone: (11) 3105-9500 / 3522-7516 / Fax: (11) 3112-0941
www.expressaopopular.com.br
livraria@expressaopopular.com.br
Dados Internacionais de Catalogao-na-Publicao (CIP)
G393 Gesto pblica e sociedades: fundamentos e polticas de
economia solidria / di Benini...[et al] (organizadores).--
1.ed.--So Paulo : Outras Expresses, 2011.
480 p. : il., tabs.
Indexado em GeoDados http://www.geodados.uem.br
ISBN 978-85-6442-105-9
1. Gesto pblica - Fundamentos. 2. Polticas pblicas
Economia solidria. I. Benini, di, org. II. Ttulo.
CDD 350
Bibliotecria: Eliane M. S. Jovanovich CRB 9/1250
sumrio
Apresentao 7
Introduo 11
Parte 1:
Problemticas do(s) Mundo(s) do Trabalho
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social
no Brasil 21
Adilson Marques Gennari
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho:
velhos dilemas e novos desafios 47
Felipe Silva
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria 71
di A. Benini
A autogesto e o novo cooperativismo 91
Claudio Nascimento
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento 101
Las Fraga
Em busca de uma pedagogia da produo associada 125
Henrique T. Novaes e Mariana Castro
Parte 2:
Fundamentos da Gesto Pblica
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado
capitalista no sculo XX 169
Henrique T. Novaes
Os grilhes da Gesto Pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista 217
di A. Benini, Elcio Benini e Henrique T. Novaes
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios
contemporneos a contribuio de Caio Prado Jnior
e Florestan Fernandes 253
Fabiana Rodrigues e Paulo Alves de Lima Filho
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo
nos capitalismos da misria 275
Paulo Alves de Lima Filho e Rogrio Macedo
Parte 3:
Desenhos e tipos de polticas pblicas para a Economia Solidria
Conceitos e ferramentas para a anlise de Poltica Pblica 305
Milena P. Serafim e Rafael Dias
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes
e uma proposta 339
Renato Dagnino
A Economia Solidria no Governo Federal 407
Paul Singer
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao internacional 413
Maurcio Sard de Faria e Fbio Sanchez
Polticas Pblicas de Economia Solidria breve trajetria
e desafios 443
Valmor Schiochet
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos para
a agenda de uma nova rede de proteo social 453
di A. Benini, Elcio Benini
Sobre os autores 473
7
apresentao
Na ltima dcada, o campo da Economia Solidria con-
quistou um importante espao social no Brasil, que vem se ma-
terializando no crescimento do nmero de empreendimentos
econmicos solidrios nos mais diversos setores da produo,
comercializao, consumo e finanas baseados na autogesto,
na cooperao e na solidariedade. Igualmente relevantes so
as iniciativas de construo de redes de cooperao e cadeias
produtivas solidrias, evidenciando o potencial de crescimento
da Economia Solidria a partir de estruturas orgnicas, pau-
tadas por idnticos princpios e critrios de eficcia. A expan-
so da Economia Solidria encontrou significativo apoio nos
movimentos sociais, urbanos e rurais, que incluram nas suas
estratgias o desenvolvimento de iniciativas de produo dos
meios de vida ancoradas no trabalho associado e na autogesto
da produo.
Tal projeo da Economia Solidria no Brasil encontrou
ressonncia no Estado brasileiro, sobretudo nos governos demo-
crtico-populares que inseriram na agenda pblica o trabalho as-
sociado, formulando e implementando polticas pblicas volta-
das ao apoio e fomento aos empreendimentos solidrios. A partir
8
Gesto pblica e sociedade: fundamentos e polticas pblicas de Economia Solidria
de iniciativas pioneiras em prefeituras e governos estaduais, rea-
lizadas desde, pelo menos, a dcada de 1990, as polticas pbli-
cas de Economia Solidria alcanaram o governo federal com a
eleio do presidente Lula em 2002, com a criao da Secretaria
Nacional de Economia Solidria, no mbito do Ministrio do
Trabalho e Emprego.
Ao lado de importantes organizaes ou articulaes dos
atores do campo da Economia Solidria, os gestores de polticas
pblicas de Economia Solidria tiveram um papel significativo
na criao da Senaes nos seus oito anos de existncia, participan-
do ativamente dos espaos institucionais de elaborao e controle
social da poltica em nvel federal, e como gestores de polticas
nos planos estadual e municipal. A Rede de Gestores de Polticas
Pblicas de Economia Solidria, instituio que cristaliza a expe-
rincia desse perodo, contribuiu para a disseminao das polti-
cas de Economia Solidria em centenas de municpios e governos
estaduais, nas cinco regies do pas. Seja atuando diretamente na
formao de gestores, seja trocando experincias, sistematizando
e publicizando as metodologias utilizadas, os resultados obtidos
e os entraves institucionais que persistem, a Rede de Gestores foi
parceira estratgica da Senaes na ampliao do espao da Econo-
mia Solidria no Estado brasileiro.
Neste momento em que se inicia uma ao nacional para a
Formao de Gestores Pblicos em Economia Solidria, em nvel
de especializao, executado em parceria entre a Universidade
Federal do Tocantins e a Universidade Estadual de Campinas,
o que se pretende possibilitar que as polticas voltadas ao tra-
balho associado, coletivo e autogestionrio alcancem um novo
patamar, fortalecendo seus princpios e suas organizaes, dis-
seminando as metodologias e estratgias at aqui adotadas e que
possibilite o surgimento de novas formulaes e diretrizes que
permitam avanar na luta por um novo modelo de desenvolvi-
mento para o pas.
9
Apresentao
Parte integrante deste projeto, a publicao do primeiro vo-
lume do livro Gesto pblica e sociedade: fundamentos e pol-
ticas pblicas de Economia Solidria uma contribuio para a
reflexo crtica e militante sobre as potencialidades das polticas
pblicas de apoio Economia Solidria em nosso pas.
Departamento de Estudos e Divulgao
Secretaria Nacional de Economia Solidria
11
introduo
Esta coletnea de artigos a primeira de um conjunto de
dois volumes que compem parte do material didtico utilizado
na terceira edio do curso de especializao Gesto Pblica e
Sociedade, lanado em parceria com a Secretaria Nacional de
Economia Solidria (Senaes), do Ministrio do Trabalho e Em-
prego (MTE), atravs de Edital Pblico do ano de 2010.
Voltado formao de servidores ou gestores pblicos e re-
presentantes dos movimentos sociais que atuam ou pretendem
atuar nas polticas de Economia Solidria, autogesto e coopera-
tivismo, o curso fruto de uma articulao entre professores da
UFT (Universidade Federal do Tocantins) e do Grupo de Anlise
de Polticas de Inovao da Universidade Estadual de Campinas
(Gapi/Unicamp), visando apoiar e fortalecer as aes no cam-
po das polticas pblicas de Economia Solidria, autogesto e
coope rativismo.
Em um formato pioneiro, o curso ser realizado concomi-
tantemente em dez cidades-polo (Porto Alegre, Curitiba, Cam-
pinas, Belo Horizonte, Campo Grande, Braslia, Palmas, Belm,
Salvador e Recife), com a pretenso de formar 400 servidores
pblicos ou gestores. Com a concluso e aprovao dentro dos
12
Gesto pblica e sociedade: fundamentos e polticas pblicas de Economia Solidria
critrios estabelecidos, os gestores recebero o ttulo de ps-gra-
duao Lato Sensu em Gesto Pblica e Sociedade.
Situando-se na vertente da Administrao Pblica Societal
(Paula, 2005)
1
, em linhas gerais, o curso alinha-se perspecti-
va de democratizao do Estado brasileiro e da necessidade de
construo de um novo modelo de desenvolvimento para o pas.
Pretende qualificar as aes e polticas pblicas voltadas ao apoio
e fomento ao trabalho associado, coletivo e autogestionrio que
constituam um novo modo de produo e reproduo da vida
social, para alm do capital. Pressupe que as polticas pbli-
cas efetivas requerem mecanismos institucionais de participao
e controle social, conferindo o protagonismo populao nos
assuntos pblicos.
O curso tem como foco a gesto das polticas pblicas em
Economia Solidria e como contexto as mltiplas problemticas
que afligem a sociedade contempornea. Seu objetivo, no mdio
prazo, a melhoria do processo de elaborao e implementao
das polticas pblicas e sua efetividade social e poltica no apoio
e fortalecimento do trabalho associado.
Dentre os temas a serem abordados, destacam-se os limites
e possibilidades das cooperativas e associaes diante do modo
de produo capitalista, a avaliao de polticas pblicas, a pe-
dagogia do trabalho associado, a reforma agrria e urbana, a
tecnologia social e a poltica cientfica e tecnolgica necessrias
para o desenvolvimento social; as especificidades do Brasil e o
carter capitalista do Estado brasileiro, a construo da histria
da esfera pblica no Brasil; as contradies do sistema jurdico
brasileiro, a mundializao do capital e seu impacto nas pol-
ticas pblicas; a formao da agenda governamental e aspectos
do planejamento pblico; a formulao e execuo dos progra-
1
PAULA, A. P. P. de. Por uma nova gesto pblica. So Paulo: Editora Fun-
dao Getlio Vargas, 2005.
13
Introduo
mas e polticas pblicas relacionados Economia Solidria, entre
outros.
Resultado de uma parceria entre pesquisadores engajados
nas lutas pela emancipao na Amrica Latina, o curso pretende
se diferenciar das propostas gerencialistas e tecnicistas, que dis-
seminam as teorias do New Public Management no contexto
latino-americano e naturalizam o Estado capitalista e a sociedade
de classes, impedindo a auto-organizao dos trabalhadores. Di-
ferencia-se tambm de cursos que se orientam ao treinamento de
tecnocratas destinados a operar a mquina do Estado herda-
do pela ditadura civil-militar e pelo neoliberalismo que impe-
dem aquela emancipao; ao contrrio, ele visa a formao dos
gestores que devero efetuar a difcil transio para o Estado
necessrio, que atenda as necessidades dos movimentos sociais.
O curso est estruturado em mdulos integrados que pre-
tendem colocar os gestores, servidores pblicos e representantes
dos movimentos sociais em contato com professores de diversas
reas do conhecimento, permitir a teorizao dos problemas da
sociedade de classes contempornea em perspectiva histrica e o
desenvolvimento de aes e projetos no campo da autogesto e
da Economia Solidria. Tudo isso no sentido de fazer com que os
estudantes possam melhor abordar as situaes-problema atinen-
tes ao seu contexto profissional, e que, entre eles, socializem as
suas experincias e seus conhecimentos. E, por fim, que possam
atuar no sentido de realizar uma atividade de trabalho desalie-
nante capaz de ajudar os trabalhadores a resolverem os proble-
mas cotidianos e de longo prazo da produo associada.
O curso de especializao em Gesto Pblica e Sociedade
fruto das lutas histricas dos trabalhadores/as, dos movimentos
sociais e dos trabalhadores pblicos professores, pesquisadores,
gestores e intelectuais que vislumbram uma Amrica Latina
autodeterminada, onde a produo seja realizada para a satis-
fao das necessidades humanas, onde os produtores livremente
14
Gesto pblica e sociedade: fundamentos e polticas pblicas de Economia Solidria
associados possam alcanar graus crescentes de autogoverno e de
controle da produo e reproduo da vida.
O curso se distribui ao longo de 320 horas, sendo 288 horas
de atividades presenciais, em aulas s sextas-feiras e sbados uma
vez por ms, e 72 horas de atividades a distncia, via TelEduc
(software livre desenvolvido pela Unicamp). Conta com mais de
30 professores, dez coordenadores de turma e dez monitores que
atuam em cada um dos polos.
O Curso est composto por 16 mdulos:
1) Estado, Reforma do Estado e Polticas Pblicas;
2) Gesto e Avaliao de Polticas Pblicas;
3) Espao Pblico e Processo Decisrio;
4) Tpicos avanados de Planejamento;
5) Anlise Crtica da Teoria Organizacional;
6) Projetos e Polticas Pblicas em Economia Solidria;
7) A Economia Solidria como estratgia de desenvolvi-
mento;
8) Tecnologia Social e Poltica Cientfica para a Economia
Solidria;
9) Poltica Habitacional e Reforma Urbana;
10) Pedagogias da Produo Associada;
11) Aspectos Jurdicos da Gesto Pblica;
12) Histria e Sociologia do Cooperativismo e da Autoges-
to;
13) Realidade Brasileira;
14) Metodologia de Pesquisa e do Ensino Superior;
15) Tpicos Especiais em Polticas Pblicas de Economia
Solidria;
16) Seminrios de Pesquisa Apresentao do Trabalho de
Concluso de Curso
No 16 mdulo, o Trabalho de Concluso de Curso (TCC)
ser apresentado de forma monogrfica, com orientao de um
15
Introduo
dos professores/as do curso, em seo pblica atravs de banca,
assumindo o orientador a coordenao da banca.
Mesmo que os nomes dos mdulos tentem dar uma ideia
de conjunto ao curso, acreditamos que o mais importante o
contedo crtico que ser dado por uma equipe de professores
bastante articulada, mas certamente com suas particularidades
metodolgicas, diferenas analticas e reflexes com a devida
autonomia, enriquecendo, dessa forma, o debate e a produo
socializada de conhecimentos. A esse respeito, vale lembrar o
que aponta Luiz Carlos de Freitas na apresentao do livro or-
ganizado por Moisey Pistrak
2
. Ali ele observa que um dos limi-
tes da prtica pedaggica crtica brasileira acreditar que basta
transmitir contedo crtico aos educandos que os problemas
educacionais estaro resolvidos. Concordamos que melhor
disseminar contedo crtico em vez de contedos conservado-
res, mas nosso objetivo vai alm disso. Nesse sentido, estamos
atentos para a necessidade de transformar as relaes sociais
hierrquicas e de subordinao que ainda mantm os processos
pedaggicos com contedo crtico.
Na preparao do curso, estiveram presentes nossas preo-
cupaes acerca de como o sistema do capital que se perpetua nas
corporaes, no Estado etc. contribui para que a escola condi-
cione as pessoas para o trabalho subordinado, para o egosmo e
para a hierarquia; e com o fato de que o avano da pedagogia da
qualidade total inspirada no toyotismo, apesar das propostas de
participao, trabalho coletivo, interdisciplinaridade etc.,
no abalou a educao subordinada. Sistemas educacionais que
apontem para o que Mszros chama educao para alm do
capital devem ter como uma de suas bases o desenvolvimento
da autogesto e o trabalho coletivo, sempre dentro de uma es-
2
Freitas, L. C. A luta por uma pedagogia do meio: revisitando o conceito. In:
Pistrak, M. M. A Escola-Comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
16
Gesto pblica e sociedade: fundamentos e polticas pblicas de Economia Solidria
tratgia de transcendncia do trabalho alienado. Dessa forma, a
experincia e o papel de professores capazes de atuar como me-
diadores do processo de construo dos conhecimentos necess-
rios prtica social e poltica emancipada poderiam ser melhor
aproveitados.
No vamos aqui descrever e resumir os trabalhos, mui-
tos deles originais, contidos nesta coletnea. Vamos apenas nos
referir a alguns dos que consideramos essenciais para a com-
preenso dos desafios associados Economia Solidria. Entre
eles, a necessidade de superao do Estado capitalista e a po-
tencializao das suas contradies, a transcendncia do tra-
balho alienado e a construo de uma sociedade para alm
do capital. Entre os temas, profundamente interligados, que
sero abordados, destacamos: a) a anlise da mundializao do
capital, o neoliberalismo e a concentrao de renda no Brasil;
b) as novas formas de trabalho advindas com a reestruturao
produtiva e a coexistncia com formas tayloristas; c) as propos-
tas para um novo sistema orgnico do trabalho; d) a contribui-
o do marxismo para a pesquisa do Estado capitalista de uma
forma totalizante e no mecanicista; e) o processo decisrio e
as formas contemporneas de dominao patrimonialista e as
propostas para a construo de uma gesto pblica afeita s
necessidades dos movimentos sociais que contribua para uma
governana autogestionria; f) as especificidades da formao
histrica brasileira, os momentos de ascenso das lutas popula-
res e a regresso histrica que estamos vivenciando; g) os con-
ceitos e ferramentas para a anlise das polticas pblicas; g)
as crticas gesto social; h) os momentos e ideias decisivos
para a compreenso da autogesto em perspectiva histrica; i)
o surgimento da Economia Solidria e das polticas pblicas de
Economia Solidria transversais, intersetoriais e de cooperao
latino-americana, com especial destaque para as aes estimu-
ladas pela Secretaria Nacional de Economia Solidria nos lti-
17
Introduo
mos nove anos; j) a possibilidade de constituio de uma nova
rede de proteo social para a Economia Solidria; k) o papel
da educao no e para o trabalho associado; e, por ltimo, mas
no menos importante, l) a relao entre autogesto e tecnolo-
gia social e a necessidade de construo de uma poltica cient-
fica e tecnolgica para a Economia Solidria.
Os trabalhos aqui reunidos sero utilizados como textos
de apoio nos mdulos do curso. No obstante, os professores
e gestores podero sugerir textos complementares, utilizar fil-
mes, realizar debates em grupo e outros instrumentos pedag-
gicos. Alguns textos, tais como os correspondentes ao mdulos
A Economia Solidria como Estratgia de Desenvolvimento,
Base Jurdica da Gesto Pblica, Poltica Habitacional e Re-
forma Urbana, Espao pblico e processo decisrio, bem
como aqueles relativos s experincias de polticas municipais e
estaduais de Economia Solidria, autogesto e cooperativismo
no campo e na cidade sero dados a conhecer no volume II.
Nosso esforo para a elaborao desta coletnea ser bem
recompensado se ele puder contribuir como ponto de partida
para um processo formativo pautado pela dialogicidade, pela
participao e pelo protagonismo dos servidores pblicos e ges-
tores nos momentos presenciais e a distncia que o curso lhes ir
proporcionar. Lembrando as palavras do professor Paul Singer,
quando diz que a Economia Solidria em si um ato pedag-
gico, pretendemos contribuir para que a formao em polticas
pblicas de Economia Solidria possa partir de uma pedagogia
da autogesto. E para que os princpios da Economia Solidria,
como a autogesto, a cooperao, a democracia e a solidariedade
possam ser vivenciados pelos servidores pblicos e gestores no
seu percurso formativo.
Finalmente, queremos solicitar a sua ajuda para que novas
geraes de gestores que seguirem a que inicia este curso possam
contar com materiais que avancem em qualidade e consistn-
18
Gesto pblica e sociedade: fundamentos e polticas pblicas de Economia Solidria
cia nas discusses sobre o tema. Esperamos de voc, leitor, uma
ateno especial para os equvocos e pontos obscuros que os dois
volumes contm. Boa leitura.
di Benini
Maurcio Sard de Faria
Henrique T. Novaes
Renato Dagnino
parte 1
problemticas do(s) mundo(s) do trabalho
21
Globalizao, estado, neoliberalismo
e desigualdade social no brasil
Adilson Marques Gennari
aspectos do neoliberalismo
O objetivo deste captulo apresentar alguns aspectos dos
novos contornos que a sociedade brasileira vem assumindo desde
os anos 1990 sob a poltica econmica e social cuja orientao
geral o iderio neoliberal e, concomitantemente, problematizar
a complexa questo do desemprego estrutural e do crescimento
desmesurado do exrcito industrial de reserva, e, por fim, tecer
alguns comentrios sobre as novas orientaes de poltica social
de tipo focada e neoliberal em curso.
O estudo apresentado pelo historiador ingls Perry Ander-
son (1995) bastante ilustrativo a respeito dos contornos gerais
de tal poltica e demonstra, com clareza, como os chamados neo-
liberais, desde a obra O caminho da servido de F. Hayek escri-
to em 1944 passaram a defender enfaticamente que o problema
da crise do capitalismo estava nos sindicatos e no movimento
operrio que corroa as bases do capitalismo ao destruir os nveis
de lucros das empresas.
Anderson (1995, p. 11) observa que a proposta neoliberal,
desde o seu nascedouro, era manter o Estado forte, sim, em sua
22
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do di-
nheiro, mas parco em todos os gastos sociais(...). A estabilidade
monetria deveria ser a meta suprema de qualquer governo.
A poltica neoliberal foi inaugurada no Chile, no perodo
do ditador Pinochet, entretanto, foi na Inglaterra de Margareth
Thatcher que ganhou seus contornos mais definitivos e acabados,
para depois transformar-se em paradigma dos organismos de re-
gulao internacional como FMI e Banco Mundial.
O programa econmico do governo Thatcher, segundo Per-
ry Anderson (1995, p. 11), previa pelo menos a seguinte receita:
a) contrair a emisso monetria; b) elevar as taxas de juros; c)
diminuir os impostos sobre rendimentos altos; d) abolir os con-
troles sobre fluxos financeiros; e) criar desemprego massivo; e)
aplastar as greves; f) elaborar legislao antissocial; g) cortar
gastos pblicos; e finalmente h) praticar um amplo programa de
privatizao.
Na Amrica Latina, o chamado iderio neoliberal encontrou
sua mais acabada expresso e sistematizao no encontro reali-
zado em novembro de 1989 na capital dos Estados Unidos, que
ficou conhecido como Consenso de Washington. As principais
diretrizes de poltica econmica que ali emergiram abrangiam,
segundo Batista (1995, p. 27), as seguintes reas: 1) disciplina
fiscal; 2) priorizao dos gastos pblicos; 3) reforma tributria;
4) liberalizao financeira; 5) regime cambial; 6) liberalizao
comercial; 7) investimento direto estrangeiro; 8) privatizao; 9)
desregulao das relaes trabalhistas; 10) propriedade intelec-
tual. Os objetivos bsicos das propostas do Consenso de Wa-
shington eram, por um lado, a drstica reduo do Estado e a
corroso do conceito de Nao; por outro, o mximo de abertura
importao de bens e servios e entrada de capitais de risco.
Tudo em nome de um grande princpio: o da soberania absoluta
do mercado autorregulvel nas relaes econmicas tanto inter-
nas quanto externas (Batista, idem, p. 27).
23
Adilson Marques Gennari
aspectos do processo de globalizao
O processo de globalizao capitalista foi originariamente
detectado por Karl Marx e apontado no Manifesto Comunista
(1980, p. 12) da seguinte maneira: impelida pela necessidade de
mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Neces-
sita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar
vnculos em toda parte. Pela explorao do mercado mundial, a
burguesia imprime um carter cosmopolita produo e ao con-
sumo em todos os pases. Para desespero dos reacionrios, ela
retirou indstria sua base nacional.
O que entendemos nos dias atuais por globalizao refere-
se a fenmenos relativos reordenao capitalista que foi sen-
do desenvolvida com medidas concretas de poltica econmica,
como uma determinada resposta crise estrutural capitalista da
dcada de 1970. Segundo Chesnais (1997, p. 13-14) a partir de
1978, a burguesia mundial, conduzida pelos norte-americanos
e pelos britnicos, empreendeu em proveito prprio, com maio-
res e menores graus de sucesso, a modificao internacional, e a
partir da, no quadro de praticamente todos os pases, das rela-
es polticas entre as classes. Comeou ento a desmantelar as
instituies e estatutos que materializavam o estado anterior das
relaes. As polticas de liberalizao, desregulamentao e pri-
vatizao que os Estados capitalistas adotaram um aps o outro,
desde o advento dos governos Thatcher em 1979 e Reagan em
1980, devolveram ao capital a liberdade, que havia perdido des-
de 1914, para mover-se vontade no plano internacional, entre
pases e continentes.
Podemos afirmar com segurana que uma das escolas de
pensamento burgus mais influentes no debate mundial e acad-
mico a chamada escola sociolgica reflexiva, construda princi-
palmente pelas penas de Giddens, Beck e Lash (2000). Na inter-
pretao de Ulrich Beck (2000), aps a queda do muro de Berlim,
24
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
transitamos de uma modernizao simples para uma moderniza-
o reflexiva na qual os sujeitos da ao passam a ser os novos
movimentos sociais, tais como o feminismo, o movimento eco-
lgico e, principalmente, a ao dos indivduos, num chamado
processo de individuao propiciado pelas mudanas da produ-
o rgida fordista para a produo flexvel. Tudo isto se d num
ambiente, ou numa sociedade do risco na qual todas as aes dos
indivduos reflexivos esto eivadas dos perigos de uma sociedade
de alta tecnologia.
Scott Lash (2000), por seu turno, entende que em Giddens
e em Beck a agncia vai se libertando da estrutura, na medida
em que vai avanando a produo flexvel, o que torna possvel a
reflexibilidade do sujeito. Entretanto, Lash (2000) problematiza
o surgimento de um massivo proletariado McDonalds e ques-
tiona como seus membros podero ser reflexivos, ou seja, lana a
ideia do surgimento de um operariado de perdedores da reflexi-
vidade com a seguinte questo: o que se passa com todas essas
novas posies que foram rebaixadas a um nvel inferior ao da
clssica classe operria? (Lash, 2000, p. 115)
Isto posto, Lash (2000, p. 115) apresenta a ideia de que no-
vas desigualdades emergem no capitalismo globalizado. Para ele,
para explicar estas desigualdades sistemticas do nosso globa-
lizado capitalismo de informao, assim como as desigualdades
sistemticas entre naes centrais e perifricas, devemos () dis-
cutir as condies estruturais da modernidade. Nesta perspeti-
va, para o autor, o que sustenta as estruturas sociais no mundo
contemporneo ou seja, na reflexividade uma teia de redes
globais e locais de estruturas de informao e de comunicao.
Assim, as oportunidades de vida, isto , o que decidir
quem sero os ganhadores e os perdedores no mundo contempo-
rneo, depende da posio dos sujeitos em relao ao modo de
informao. Ao contrrio da superada produo capitalista de
tipo fordista, na produo reflexiva h um contexto simultneo
25
Adilson Marques Gennari
de fluxo de conhecimento e fluxo de informao que formam a
base da produo, dando ensejo ao surgimento de uma nova
classe operria reflexiva em contraste com a velha classe ope-
rria fordista. O que caracteriza a nova classe operria reflexi-
va, segundo Scott Lash (2000), que ela trabalha dentro das es-
truturas de informao e comunicao (C&I). Nestas estruturas,
as mercadorias so produzidas e so produtos de um misto de
informao e materialidade, na medida em que a acumulao de
capital cada vez mais, simultaneamente, acumulao de infor-
mao, de smbolos e de imagens.
A mutao nas estruturas de produo foi acompanhada
pari passu por mudanas nas estruturas sociais. Neste aspecto,
verifica-se o aumento da pequena burguesia (classe mdia) e a
retrao da classe operria. Segundo Lash (2000, p. 124), a nova
classe operria reflexiva,
est paradigmaticamente associada s estruturas de informao
e comunicao (C&I) de trs formas: como consumidores recen-
temente individualizados; como utilizadores de meios informati-
zados de produo e como produtores de bens de consumo, (...)
que funcionam como meios de produo e de consumo dentro
das estruturas I & C.
Se tanto a nova classe mdia quanto a nova classe operria
esto articuladas e so formadas nas novas estruturas de C&I e,
portanto, so os vencedores da nova modernidade reflexiva, en-
to quem so os pobres, os miserveis, os desempregados de lon-
ga durao, os operrios aqum da velha classe operria fordista,
os moradores dos guetos e das periferias esquecidas pela nova
sociedade de informao? O raciocnio de Lash (2000) encami-
nha-se para esta indagao e a resolve com a utilizao da teo-
ria da subclasse de W. J. Wilson. Para Lash (2000), emerge das
profundezas da nova modernidade uma terceira classe social de
perdedores da reflexividade, ou seja, surge tambm uma nova
26
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
classe baixa composta por pobres, moradores dos guetos, setores
polarizados e excludos da sociedade da informao. O que os
caracteriza a excluso do acesso s estruturas de I & C, que
agravada pelo fato do prprio Estado moderno tambm perten-
cer a tais estruturas e, portanto, ser um ente ausente dos bairros
e dos guetos onde vive a nova classe baixa ou o operariado
McDonalds.
J para o pensamento social crtico, o atual processo de glo-
balizao capitalista aprofunda tambm as contradies prprias
relao social capital. Segundo Mszros (1997, p. 152),
o capital necessita expandir-se apesar e em detrimento das condi-
es necessrias para a vida humana, levando aos desastres eco-
lgicos e ao desemprego crnico, isto , destruio das condi-
es bsicas para a reproduo do metabolismo social. (...) Um
sistema de reproduo no pode se autocondenar mais enfatica-
mente do que quando atinge o ponto em que as pessoas se tornam
suprfluas ao seu modo de funcionamento.
Neste sentido, Mszros (Idem, p. 153) conclui sua anlise
afirmando que a nica alternativa hegemnica hegemonia do
capital aquilo que Marx chamou de produtores associados,
instaurando a sua prpria ordem quando ainda s existem como
personificao do trabalho. Nesse sentido, Mszros (2002) en-
tende que somente um vasto movimento de massas radical e ex-
tra-parlamentar pode ser capaz de destruir o sistema de domnio
social do capital e instaurar uma nova ordem sociometablica na
qual se privilegiaria o modo socialista de controle por meio da
autogesto dos produtores associados.
estado e neoliberalismo no brasil
A classe dominante brasileira nunca teve dvidas quanto
ao seu carter cosmopolita. Sempre agiu como parte indissolvel
27
Adilson Marques Gennari
dos interesses da burguesia mundial. No atual processo de glo-
balizao capitalista, sob a gide da financeirizao nos anos de
1990, tal caracterstica ficou ainda mais evidente, por exemplo,
em todo o processo de privatizao e de transferncias gigantes-
cas de valores para os credores.
A classe dominante brasileira confunde-se com a classe do-
minante global, posto que a prpria personificao do capital
financeiro internacional. Abordando a questo, Darcy Ribeiro
(1995, p. 248) entende que na origem do fracasso das maiorias
est o xito das minorias em seus desgnios de resguardar velhos
privilgios por meio da perpetuao do monoplio da terra, do
primado do lucro sobre as necessidades e da imposio de for-
mas arcaicas e renovadas de contingenciamento da populao ao
papel de fora de trabalho superexplorada. Ao defender seus in-
teresses, num momento de enfraquecimento do movimento ope-
rrio internacional, a classe dominante desencadeou, a partir de
todo o processo de globalizao capitalista (e de sua ideologia
neoliberal) um crescimento sem paralelo do exrcito industrial
de reserva, lanando milhares de brasileiros no desemprego, na
misria, na prostituio infantil e na mais bestial escalada da vio-
lncia urbana e rural, criando assim, estruturalmente, uma mas-
sa crescente de miserveis cidados do mundo, que a contra
face do propalado cidado do mundo (com seu notebook, seu
aparelho celular, seu carro importado, seu dinheiro de plstico
etc.). No atual processo de transformao do capitalismo, em sua
fase de crise estrutural, paralelo ao mito do mercado que tudo
resolve, desenvolve-se o mito do cidado globalizado autnomo,
como nas teses de Giddens, Back e Scott Lash (teses que aborda-
remos mais adiante).
No Brasil, a ideologia neoliberal, em grande medida, fun-
cionou como moldura da superestrutura ideolgica de domina-
o, pois concretamente vivenciamos um processo bonapartista
ou, na acepo de Florestan Fernandes (1981), uma autocracia
28
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
burguesa institucionalizada, na medida em que o executivo, sob
a equipe de Collor e FHC, governou atravs do expediente da
edio de medidas provisrias que, via de regra, se tornaram per-
manentes por fora de manobras polticas do executivo ou sim-
plesmente porque no seria vivel voltar atrs aps ter sido posta
em prtica um conjunto de medidas, por exemplo, da abrangn-
cia e impacto social do Plano Real.
A poltica econmica externa brasileira nos anos 1990
caracterizou-se pela aplicao de toda a agenda neoliberal. Tal
agenda ancora-se basicamente na retrica de que o mercado
o mais eficiente organizador da sociedade (Hayek, 1977). Pare-
ce plausvel afirmar que a implementao continuada da polti-
ca econmica de talhe neoliberal pelos governos brasileiros, nos
anos 1990, estaria reconfigurando as bases da acumulao de ca-
pital no Brasil, de modo a criar um novo padro de acumulao,
fundado num novo patamar de subordinao ao capital financei-
ro internacional, cuja caracterstica principal no apenas a ten-
dncia estrutural ao estrangulamento externo. Soma-se velha
tendncia, o crescimento exponencial dos sedimentos profundos
do exrcito industrial de reserva.
Na periferia colonial agrrio-exportadora escravista e, pos-
teriormente, de capitalismo industrial internacionalizado e su-
bordinado, a formao da populao excedente, ou na acepo
de Marx, do exrcito industrial de reserva, assume a forma de
uma estrutural e secular economia de subsistncia que vive nos
interstcios da economia agrrio-exportadora e, posteriormente,
assume o aspecto de uma especfica informalidade no processo
de industrializao. Na origem dos trabalhadores pobres e des-
possudos do sculo XXI, h uma longa trajetria que tem incio
na populao escrava e nos trabalhadores da economia de subsis-
tncia cujo incio se confunde com a prpria atividade coloniza-
dora e com a introduo do trabalho escravo. Segundo Delgado
(2004, p. 14),
29
Adilson Marques Gennari
esse setor de subsistncia sobreviveu abolio da escravatura,
entre outros fatores, por ser um subsistema independente do es-
cravismo e, de certa forma, ser tambm autnomo relativamente
monocultura exportadora embora no o seja em relao ao
regime fundirio vigente.
As mazelas herdadas pelo povo brasileiro so perversas. Se-
gundo o estudo de Delgado (2004, p. 16),
a sociedade que se forja no Brasil depois da abolio carrega no
seu mago duas questes mal resolvidas do sculo anterior: as
relaes agrrias arbitradas pelo patriciado rural, mediante a lei
de Terras (1850), profundamente restritiva ao desenvolvimento
da chamada agricultura familiar; e uma lei de libertao dos es-
cravos que nada regula sobre as condies de insero dos ex-
escravos na economia e na sociedade ps-abolio.
Ainda nos termos de Delgado (Idem, p. 25), em 1980, ao fim
do ciclo de expanso de cerca de cinquenta anos de industrializao
e urbanizao intensivas, o setor formal do mercado de trabalho
(empregados com carteira assinada e autnomos contribuintes, mais
funcionrios pblicos e empregadores) atingiu o pico de absoro da
Populao Economicamente Ativa (PEA) 55,6% , enquanto no
mesmo ano o setor de subsistncia, acrescido do emprego informal e
dos desempregados, correspondia a 43,4% da PEA.
Paradoxalmente, esta parcela da populao tende a crescer
na fase do capitalismo globalizado e de servios, mantendo um
exrcito de pobres e miserveis que convivem no interior de uma
das economias mais ricas do mundo, como a brasileira, na qual
cerca de 77% das famlias no setor de agricultura familiar vivem
no chamado setor de subsistncia.
Delgado conclui que
tal sociedade de grandes proprietrios de terra e de poucos ho-
mens assimilados ao chamado mercado de trabalho inaugurou
30
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
o sculo XX impregnada pela desigualdade de oportunidades e
pelas condies de reproduo humana impostas esmagadora
maioria dos agricultores no proprietrios e trabalhadores ur-
banos no inseridos na economia mercantil da poca (Delgado,
p. 17).
No Brasil, no incio dos anos 1990, o governo Collor de
Mello tratou de implementar uma poltica econmica e uma pol-
tica externa que seguia de perto as recomendaes e diretrizes do
chamado Consenso de Washington, qual seja, de privatizaes e
de liberalizao econmica, tanto no que tange aos fluxos de ca-
pitais quanto aos fluxos de mercadorias.
Segundo Filgueiras (2000, p. 84), com o governo Collor de
Mello e seu plano econmico, assistiu-se a uma ruptura que mar-
cou definitivamente a trajetria do desenvolvimento do Brasil.
Pela primeira vez, para alm de uma poltica de estabilizao,
surgiu a proposta de um projeto de longo prazo, que articulava
o combate inflao com a implementao de reformas estrutu-
rais na economia, no Estado e na relao do pas com o resto do
mundo, com caractersticas nitidamente neoliberais. No entanto,
esse projeto, conduzido politicamente de maneira bastante inbil,
acabou por se inviabilizar naquele momento.
O fenmeno Collor representou o processo de coroamento
da institucionalizao poltica que era um dos imperativos da
revoluo de 1964. Collor se colocara como a alternativa se-
gura para os representantes da ordem contra a ascenso de Luiz
Incio Lula da Silva, que, na poca, poderia significar a origem de
mudanas polticas, econmicas e sociais dada sua ligao com
os movimentos populares. importante notar que o presidente
Fernando Collor de Mello recebeu significativo apoio de deter-
minados setores empresariais. Segundo Oliveira (1992, p. 147),
Collor est envolvido por um crculo do poder duplamente
mortfero, os anis do poder econmico e do poder poltico. So
os que encheram suas sacolas de generosas contribuies para
31
Adilson Marques Gennari
a campanha e cobram na forma de privilgios nas licitaes. So
os que lhe do apoio no Congresso e cobram nos favores para
suas empresas ou de seus mestres. Deram apoio porque sabiam
que ele era um falsificador da ira popular e cidad e reforam o
apoio quando percebem que o falsificador se isola cada vez mais,
acuado pelo crescimento da opinio pblica. uma dialtica in-
fernal. Chamam-se indiscriminadamente empreiteiras, banquei-
ros, ACM, Bornhausen, Fiuza, Odebrecht, OAS, Rede Globo,
Roberto Marinho, Tratex, Cetenco, Votorantim; a lista seria in-
findvel, pois so corretores que, como de praxe nos bons ne-
gcios, tambm enriquecem.
No final da dcada de 1980, o governo brasileiro deu incio
reforma comercial com a eliminao dos controles quantitati-
vos e administrativos sobre as importaes somado proposta de
reduo tarifria. Para Rego (2000, p. 184), a abertura da eco-
nomia brasileira intensificou-se a partir de 1990. O esgotamento
do modelo de substituio de importaes e a crescente desregu-
lamentao dos mercados internacionais contriburam para uma
reestruturao da economia brasileira, influenciada pela reduo
das tarifas de importao e eliminao de vrias barreiras no ta-
rifrias. A tarifa nominal mdia de importao, que era de cerca
de 40%, em 1990, foi reduzida gradualmente at atingir seu nvel
mais baixo em 1995, 13%.
Nesse sentido, no governo Collor teve incio o mais radical
processo de abertura comercial j registrado desde pelo menos a
chamada mudana do eixo dinmico, nos anos 1930, brilhante-
mente descrita por Celso Furtado em sua obra Formao econ-
mica do Brasil. As alquotas mdias passaram de 30,5% em 1989
para 32,2% em 1990. Baixaram para 25,3% em 1991 e reduzi-
ram, mais ainda, para 20,8% em 1992, ltimo ano de governo
efetivo de Collor de Mello que sofreu processo de impeachment
em outubro de 1992, devido s denncias de corrupo num am-
biente de completo fracasso do Plano Collor II.
32
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
Com a ascenso de Fernando Henrique Cardoso presidn-
cia da Repblica, atravs de uma aliana do PSDB com o PFL,
o processo de liberalizao e privatizao realmente foi intensifi-
cado. A poltica econmica em relao ao setor externo passou a
ser um elemento central de toda a poltica do governo, na medi-
da em que a poltica de estabilizao, reconhecida pelo Governo
como aspecto mais importante no curto prazo e, na medida em
que tem na ncora cambial seu aspecto decisivo, alm da ncora
salarial (via desindexao) tornou deliberadamente a poltica
econmica externa e toda a poltica governamental refm dos
ingressos do capital financeiro internacional.
Tecendo um balano do processo brasileiro nos anos 1990,
o estudo de Mattoso (2001, p. 30) concluiu que, efetivamente, a
abertura comercial indiscriminada, a ausncia de polticas indus-
triais e agrcolas, a sobrevalorizao do real e os elevados juros
introduziram um freio ao crescimento do conjunto da economia
e uma clara desvantagem da produo domstica diante da con-
corrncia internacional. A reao das empresas, dada a menor
competitividade diante dos concorrentes externos foi imediata:
aceleraram a terceirizao de atividades, abandonaram linhas de
produtos, fecharam unidades, racionalizaram a produo, im-
portaram mquinas e equipamentos, buscaram parcerias, fuses
ou transferncia de controle acionrio e reduziram custos, sobre-
tudo da mo de obra.
Tal processo socioeconmico foi ilustrado atravs dos da-
dos apresentados pela pesquisa das taxas de desemprego na re-
gio metropolitana de So Paulo (PED), elaborados pelo conv-
nio Seade /Dieese , MTE/FAT, em que podemos observar que a
taxa de desemprego total saltou de 8,7% em 1989 para 13,2%
em 1995 e para 19,3% em 1999, ilustrando com veemncia que
nada menos de 1,715 milho de pessoas estavam sem emprego
em 1999. No mbito de toda a federao, os dados referentes
ao desemprego aberto brasileiro apresentados pelo IBGE nos
33
Adilson Marques Gennari
informam que o desemprego mais do que dobrou na dcada, sal-
tando de 3,64% em 1989 para 8,01% em 1999. A brutal elevao
do desemprego (conforme tabela abaixo) e o paralelo processo de
precarizao das relaes do trabalho reacenderam a discusso
acerca da categoria clssica exrcito industrial de reserva.
Diversos autores apontam, com efeito, a fragmentao do
mercado de trabalho entre um ncleo produtivo com assalaria-
dos a tempo integral e maiores perspectivas de progresso e uma
massa de trabalhadores com enquadramentos precrios como
o elemento estruturante do mundo laboral moderno. Na verdade,
sob o imperativo da flexibilidade, num contexto de concorrncia
global e de mundializao do capital, evidencia-se a chamada
subproletarizao tardia, eufemisticamente associada por al-
guns a uma lgica de informalizao das relaes laborais. Des-
te subproletariado tardio fariam parte dois subgrupos: a) o dos
assalariados com competncias menos especializadas, facilmente
disponveis no mercado de trabalho e, por isso, com taxas eleva-
das de rotatividade e menos oportunidades de progresso na car-
reira; b) o dos trabalhadores com vnculos laborais precrios.
evoluo da taxa de desemprego no brasil
Ano 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
4,3% 4,6% 7,1% 9,8% 9,3% 7,9% 8,1%
Fonte: CEPALSTAT, 2009.
Neste sentido, no Brasil, a precariedade do trabalho est bas-
tante associada ao trabalho na chamada economia informal. Esta
forma no est ligada necessariamente reduo da proteo so-
cial, como no caso de alguns pases europeus, mas, principalmente
quelas atividades que so desenvolvidas sem, ou margem, de
toda regulamentao advinda do Estado. De fato, parte substan-
cial do contingente de trabalhadores informais est ligada cha-
mada superpopulao relativa ou exrcito industrial de reserva.
34
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
A categoria exrcito industrial de reserva, de Karl Marx,
tem sido objeto de discusses e de vrias interpretaes. Eviden-
temente, faz-se necessria uma anlise emprica acurada das mu-
danas no comportamento da parcela da classe trabalhadora que
se torna suprflua para a prpria acumulao de capital. Nesse
sentido, os dados apresentados pela pesquisa empreendida pelo
Dieese (2001) contribuem para avanar na anlise das novas con-
figuraes que vem assumindo o exrcito industrial de reserva
hoje. Em outros termos, podemos verificar que a distncia entre
o nmero de pessoas aptas ao trabalho e o nmero de traba-
lhadores que conseguem emprego tende a crescer. Isto evidencia
uma grande contradio da atualidade e uma caracterstica das
novas formas que as relaes sociais vm assumindo, uma vez
que os novos contingentes de pessoas da classe trabalhadora no
conseguem emprego e, assim, pem em questo a prpria base da
atual sociedade, que necessita de trabalhadores assalariados para
a extrao da mais-valia. Esta nova configurao das relaes
sociais, que se d sob a determinao da revoluo tecnolgica
em curso, foi determinada pela luta de classe, ou como reao da
classe dominante internacional queda da taxa de lucro, deri-
vada das conquistas histricas da luta dos trabalhadores. A rea-
o da classe dominante evidentemente tentar elevar a taxa de
explorao e isto somente possvel atravs da elevao da pro-
duo de mais-valia relativa, conquistada graas ao aumento da
composio orgnica do capital impulsionada pelo aumento rela-
tivo dos investimentos em novas tecnologias ou bens de capital.
Assim, as contradies sociais, ou a luta entre as classes, desen-
cadeou uma revoluo tecnolgica sem precedentes, pois agora
trata-se de uma revoluo tcnica baseada nos conhecimentos in-
formacionais e na robtica, muito mais racionalizadoras de fora
de trabalho do que as revolues anteriores, criando-se a falsa
ideia de uma sociedade do conhecimento, sem contradies e
sem produo de mais-valia, enfim, sem trabalho e sem capital.
35
Adilson Marques Gennari
Tais avaliaes irracionais (no sentido lukacsiano, pois des-
consideram a realidade histrica), que vm, por exemplo, de in-
telectuais respeitados, como Toni Negri e Andr Gorz, se es-
quecem de lies antigas de Karl Marx, nas quais a categoria
trabalho se define pelo dispndio de energias fsicas, psicolgicas,
ou seja, formas imateriais se materializam no trabalho social,
nica maneira possvel de se produzir mercadorias.
Uma das caractersticas essenciais do novo padro de acumu-
lao brasileiro se refere, portanto, a uma questo estrutural cen-
tral. O exrcito industrial de reserva s pode ser entendido, nica
e exclusivamente, como um fenmeno global. Os pases do centro
da acumulao, por concentrarem e centralizarem o capital finan-
ceiro global, concentram os sedimentos superiores do exrcito in-
dustrial de reserva (flutuante) que se refere principalmente aos tra-
balhadores que se reciclam e voltam ao mercado de trabalho. J
os pases subordinados, como que num gradiente, vo concentran-
do os sedimentos mais profundos do exrcito industrial de reser-
va, ou seja, a parte latente, mas principalmente a superpopulao
estagnada, que segundo Marx (1980, p. 746) constitui parte do
exrcito de trabalhadores em ao, mas com ocupao totalmente
irregular. Mas a maior contradio atual que o sedimento mais
profundo o que mais se desenvolve por todo o globo terrestre, na
medida em que o crescimento econmico (que raramente ocorre)
passa a ser economizador de fora de trabalho. Cresce em nmero
de pessoas e, portanto, desenvolve-se o que Marx (Idem, p. 746-
747) chamou de o mais profundo sedimento da superpopulao
relativa [que] vegeta no inferno da indigncia, do pauperismo. (...)
So notadamente os indivduos que sucumbem em virtude de sua
incapacidade de adaptao, decorrente da diviso do trabalho.
No campo da poltica econmica neoliberal adotada, a ne-
cessidade permanente e crescente de Investimentos Diretos Es-
trangeiros (IDE) apenas a expresso fenomnica do processo
cujo fundamento a absoluta e deliberada subordinao do es-
36
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
pao nacional, empreendida pela classe dominante brasileira,
acumulao financeira internacional do capital, da qual benefi-
ciria direta, posto que scia.
A substituio estrutural do chamado trip de financiamen-
to da acumulao (capital nacional + capital internacional + in-
vestimentos do Estado) base do nacional desenvolvimentismo
por um outro tipo de configurao estrutural baseado funda-
mentalmente no capital financeiro internacional, cria novas for-
mas de subordinao, com uma substancial reduo das margens
de liberdade decisrias tanto no que tange elaborao da polti-
ca econmica (conjuntura), quanto no que se refere s polticas de
fomento e desenvolvimento de mais amplo flego (reformas es-
truturais). Entretanto, possvel afirmar que, no fundo, as aes
do Estado se ampliam, mas obviamente no sentido da regulao
para a transferncia do fundo pblico em proporo crescente
para o financiamento do setor privado, vis vis reproduo da
fora de trabalho. Em sua sugesto, o professor Francisco de Oli-
veira matou a charada do Estado no sculo XX, ao sugerir que
o Estado (o fundo pblico) transformou-se em pressuposto geral
da acumulao de capital.
Parece que as consequncias mais imediatas da implanta-
o de tal estratgia no Brasil so: 1) crescimento do desempre-
go estrutural e conjuntural (segundo dados do prprio IBGE, o
Brasil ocupa a segunda posio no mundo em maior nmero de
desempregados); 2) eliminao de parcela considervel da inds-
tria de capital nacional, via falncias ou incorporaes; 3) de-
sarticulao ou destruio do chamado setor produtivo estatal
via privatizaes; 4) crescimento do deficit pblico a patamares
comprometedores da prpria estratgia; 5) crescimento da de-
pendncia externa em funo do crescimento do deficit em con-
tas correntes (oriundo agora do deficit comercial estrutural que
se somou ao histrico deficit na conta de servios, caracterstico
de pases subordinados); 6) manuteno das profundas desigual-
37
Adilson Marques Gennari
dades sociais e regionais, tais como nveis intolerantes de concen-
trao da propriedade e da renda; 7) reduo dos gastos sociais
nas reas prioritrias que atingem a maioria da populao tais
como sade, educao, transporte urbano e moradia, em funo
do ajuste dos gastos pblicos, que via de regra devem ser usados
para o ajuste de rota em direo propalada modernizao do
parque produtivo como necessidade da nova agenda competitiva,
ou simplesmente para atender as remuneraes do capital finan-
ceiro, como na recomendao explcita do FMI.
Nessa nova fase de subordinao estrutural, temos a apa-
rncia da impossibilidade de formulao de uma poltica econ-
mica independente, na medida em que os sujeitos histricos no
comando da poltica econmica, leia-se PSDB, direcionaram toda
a poltica econmica e a prpria acumulao de capital, sua face
monetria, e a formao do fundo pblico num sentido caudat-
rio dos interesses do grande capital financeiro internacional.
Assim, a globalizao capitalista e a abertura econmica
que lhe peculiar aprofundam o processo de internacionalizao
e subordinao da economia brasileira num patamar jamais veri-
ficado em todo o processo de acumulao ampliada do capital no
Brasil. Esse processo definido pelos seus defensores como mo-
dernizao, eufemismo para o novo processo de acumulao de
capital cujo eixo a acumulao financeira, com suas empresas
em rede. No limite, os pases da periferia do sistema, com des-
taque para o processo brasileiro, passam a viver um processo de
permanente tendncia ao estrangulamento externo acompanha-
do de remessa de vultuosas massas de mais-valia para os pases
centrais. Basta uma verificao emprica nas contas do balano
de pagamentos do Brasil e dos histricos e gritantes indicadores
sociais que apresentam o Brasil entre os pases com maior con-
centrao de renda, com grande endividamento externo, com gri-
tantes ndices de desemprego e, enfim, com uma lamentvel posi-
o no ranking do ndice de desenvolvimento humano (IDH).
38
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
neoliberalismo, desigualdade e poltica social no governo
lula da silva
Com a ascenso de Luiz Incio Lula da Silva presidn-
cia da Repblica em 2002, a poltica neoliberal se manifestar
principalmente em duas frentes: em primeiro lugar pela manu-
teno da arquitetura macroeconmica dos governos anterio-
res, principalmente no que tange poltica de criao de su-
peravits primrios e poltica de juros elevados no quadro de
uma obsesso pela estabilidade monetria. Em segundo lugar,
pelo aprofundamento de polticas sociais de tipo focalizada,
como o Prouni e principalmente seu carro chefe: o programa
Bolsa Famlia.
No perodo recente, notam-se porm algumas mudanas
positivas. Ao analisar os dados de 1981 a 2007, verifica-se que
nesta ltima dcada houve uma melhora nos indicadores de
concentrao e desigualdade de renda, tais como proporo de
pobres na populao total, pessoas que se apropriam da renda
equivalente ao 1% mais rico, ndice de Gini e ndice de Theil,
razo entre a renda dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres.
A evoluo do ndice de Gini, apresentado na Tabela 1, demons-
tra uma certa melhoria na sociedade brasileira, conquistada na
ltima dcada.
tabela 1. ndice de Gini no brasil
Anos ndice de Gini
1990 0,627
2001 0,639
2008 0,594
Fonte: Anurio Estatstico da Cepal (2010)
No entanto, o que se nota que, a despeito de tal com-
portamento, a sociedade brasileira ainda se encontra entre as
39
Adilson Marques Gennari
mais desiguais do mundo. As tendncias de descida do ndice
de Gini no apontam para mudanas estruturais no perfil da
distribuio de renda e na reduo das desigualdades sociais
no pas. Os patamares de pobreza e desigualdade ainda esto
distantes dos desejveis para a promoo da justia social e
do bem-estar. A despeito da queda percentual, uma sociedade
em que o 1% mais rico se apropria de 20,50% da renda, en-
quanto os 50% mais pobres se apropriam de apenas 14,74%,
ainda uma sociedade extremamente injusta do ponto de vista
social.
Segundo a avaliao de Pochmann (2004, p. 53), os ricos
no Brasil, uma nfima parcela mais rica da populao, no supe-
rior a 10%, apropria-se de mais de 2/3 da riqueza nacional des-
de o sculo XVIII. E isso no foi alterado significativamente at
os dias de hoje. sobre tal realidade que incidiram, na ltima
dcada (1999-2009), grandes mudanas nas estruturas econmi-
cas e sociais, concomitantes s polticas econmicas e sociais de
cunho neoliberal.
No Brasil, pelo menos desde 2004 at o final desta dcada,
os dados disponveis da populao abaixo da linha da pobre-
za demonstram uma melhora sensvel, devido a um conjunto de
aes de poltica social como, por exemplo, o programa Bolsa Fa-
mlia, a poltica de elevao do salrio-mnimo acima dos ndices
de inflao, bem como a incluso de pessoas idosas nos progra-
mas de aposentadoria, poltica de crdito para setores de baixa
renda, polticas para reduo das desigualdades de gnero, entre
outras. O Programa Bolsa Famlia considerado um programa
de grande xito na medida em que contempla aproximadamente
11 milhes de famlias pobres, ou aproximadamente um quarto
da populao brasileira.
40
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
tabela 2. pessoas em situao de pobreza e de extrema pobreza brasil
Ano %
1990 48
2001 37,5
2003 38,7
2005 36,3
2007 30,0
2008 25,8
Fonte: Anurio estatstico Cepal (2010) (adaptado)
De fato, somente nos anos 1990 medidas efetivas de res-
posta aos problemas da pobreza foram tomadas, como por
exemplo, a criao, no governo de Fernando Henrique Cardo-
so, de programas como o Programa de Erradicao do Traba-
lho Infantil, Agente Jovem, Sentinela, Bolsa Escola, Bolsa Ali-
mentao e Auxlio Gs. (Weissheimer, 2006, p. 28). O passo
seguinte se deu no governo Lula da Silva com a integrao de
vrios programas, dando ensejo ao programa Bolsa Famlia.
Institudo
pela Medida Provisria n. 132, em novembro de 2003, o Bolsa Fa-
mlia um programa federal de transferncia direta de renda desti-
nado s famlias em situao de pobreza (renda mensal por pessoa
de R$ 60,00 a R$ 120,00) e de extrema pobreza (com renda men-
sal por pessoa de at R$ 60,00) (Weissheimer, 2006, p. 25).
Isto posto, o programa Bolsa Famlia foi idealizado com
dois objetivos:
combater a misria e a excluso social, e promover a emancipa-
o das famlias mais pobres. Uma das novidades do programa
em relao a iniciativas similares anteriores foi a unificao de
todos os benefcios sociais do governo federal (bolsa escola, bol-
sa alimentao, carto alimentao e auxlio gs) em um nico
programa (Weissheimer, 2006, p. 25).
41
Adilson Marques Gennari
Para receber o benefcio, as famlias devem cumprir algu-
mas condicionalidades, como por exemplo:
as famlias devem participar de aes no acompanhamento de
sade e do estado nutricional dos filhos, matricular e acompa-
nhar a frequncia escolar das crianas no ensino fundamental e
participar de aes de educao alimentar. Com base nas infor-
maes do cadastro nico elaborado pelas prefeituras, o MDS
seleciona as famlias a serem beneficiadas. (...) A Caixa Econmi-
ca Federal o agente operador do cadastro e do pagamento dos
benefcios (Weissheimer, 2006, p. 26).
Sendo um programa de carter nacional, sua administrao
possui tambm o mbito nacional, sendo gerido pelo Ministrio
de Desenvolvimento Social e Combate Fome. Para viabilizar
seu funcionamento em um pas continental, foram institudas
parcerias com as outras esferas de governo, principalmente os
Estados e os municpios.
O relativo sucesso do Programa Bolsa Famlia em minorar
o sofrimento de milhes de pessoas miserveis esconde, via de
regra, alguns novos problemas que tais polticas sociais deste
tipo trazem. Um dos aspectos a considerar que tais polticas
focalizadas implicam o abandono ou a substituio de polti-
cas universais, consideradas muito dispendiosas, por polticas
focadas que muitas vezes deixam de fora um contingente no
desprezvel de milhares de pessoas que no se encaixam nas exi-
gncias para os programas focados e no dispem de acesso a
polticas universais de seguridade social, permanecendo assim
margem.
Segundo a anlise acurada de Anete Ivo (2008, p. 29)
1
:
1
A obra faz uma anlise detalhada das teorias que deram substrato s pol-
ticas sociais e elabora uma crtica acurada atual forma de poltica social
focalizada.
42
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
os dados positivos observados na queda dos indicadores das de-
sigualdades em favor das camadas mais pobres tm por base a
renda do trabalho. Significam, especialmente, que a renda dos
mais pobres cresceu num ritmo mais elevado que a renda dos
estratos de trabalhadores com renda mdia ou alta. O resulta-
do dessa relao, no entanto, expressa tambm queda da renda
mdia do trabalho, que, em 2006, ainda no havia recuperado o
valor de 1996. Por outro lado, a relao entre a renda funcional
do trabalho e a renda dos ativos inverte sua posio, apresentan-
do queda da participao do trabalho em relao aos ganhos de
capital, que passa de 56%, em 1993, para 45,3%, em 2003, man-
tendo-se num patamar estvel desde ento. Isto significa que, ape-
sar de o Brasil ter melhorado os indicadores das desigualdades,
no alterou o seu padro da concentrao de renda e, portanto,
o conflito redistributivo opera-se fundamentalmente, na base da
pirmide social, entre trabalhadores mdios e aqueles com rendi-
mentos mais altos e os setores mais pobres da sociedade.
Alm disso, as informaes e dados veiculados recentemen-
te na grande imprensa, oriundos das agncias e ministrios go-
vernamentais do Brasil, demonstram que os recursos despendi-
dos pelo programa bolsa famlia so insuficientes para retirar a
populao da extrema pobreza:
Segundo o terceiro levantamento realizado pelo Ministrio de De-
senvolvimento Social e Combate Fome, em setembro de 2009, a
renda mediana de 65% dos beneficirios do programa de auxlio
inferior a R$ 70, valor usado pelo governo para caracterizar a
linha de extrema pobreza.
2
2
Valor On Line. Disponvel em: http://g1.globo.com/economia-e-negocios/
noticia/2010/05/bolsa-familia-nao-livra-a-maioria-da-extrema-pobreza.html,
acesso em 14-06-2010. Segundo este artigo, no Nordeste, onde vive metade dos
beneficirios (6,2 milhes de famlias), o Bolsa Famlia fez a renda mdia sair de
R$ 40,07 para R$ 65,29. No Norte, cerca de 1,28 milho de famlias teve a ren-
da elevada de R$ 41,65 para R$ 66,21. J no Sul, onde essa correlao maior,
a renda familiar dos beneficirios saiu de R$ 64,01 para R$ 85,07.
43
Adilson Marques Gennari
Neste contexto, como afirma Francisco de Oliveira (2006,
p. 37), as polticas assistencialistas, () so na verdade pol-
ticas de funcionalizao da pobreza. na medida em que no
ocorre um efetivo processo de distribuio da renda entre as
classes (no se toca na renda da parcela mais rica da socieda-
de) e, nem tampouco, toca-se na secular estrutura fundiria,
via reforma agrria, que seria uma forma privilegiada para se
promover a transformao estrutural da sociedade brasileira,
no sentido de dirimir a tradicional pirmide de concentrao de
renda no Brasil.
Cabe ressaltar, guisa de concluso, que toda poltica so-
cial de transferncia de renda sempre bem-vinda; entretanto,
um real processo de distribuio de renda e do poder no poder
prescindir da efetivao das histricas bandeiras populares em
prol da reforma agrria, da reforma urbana e da socializao dos
meios de produo, caso contrrio a efetiva justia social conti-
nuar morando no vasto campo utpico da necessidade histrica
da construo da globalizao socialista.
referncias bibliogrficas
ANDERSON, Perry, Balano do Neoliberalismo, in E. Sader (org.),
Ps-neoliberalismo, So Paulo: Paz e Terra, 1995.
ANTUNES, Ricardo & POCHMANN, Marcio. Dimenses do De-
semprego e da Pobreza no Brasil, http://www.interfacehs.
sp.senac.br/images/artigos/140_pdf, 2006.
BANCO MUNDIAL. O combate Pobreza no Brasil, in Relat-
rio do Setor de Reduo da Pobreza e Manejo Econmico, n
20475-BR, Depto. do Brasil, 2001.
BATISTA, Paulo Nogueira. O Consenso de Washington: a viso neoli-
beral dos problemas latino-americanos. Caderno Dvida Exter-
na n. 6. 2 ed. So Paulo: PEDEX, 1994.
BECK, Ulrich, GIDDENS, Anthony; LASH, Scott, Modernizao Re-
flexiva: poltica, tradio e esttica na ordem social moderna.
Oeiras: Celta Editora, 2000.
44
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
BECK, Ulrich. Risk Society: Towards a New Modernity, New Delhi:
Sage, 1992.
CASTEL, Robert. Les mtamorphoses de la question sociale. Une
chronique du salariat, Paris : Librairie Arthme Fayard, 1995.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede, So Paulo: Paz e Terra ,
1999.
CEPAL. Panorama social de Amrica Latina, Naes Unidas, 2006.
. Panorama social de Amrica Latina, Naes Unidas, 2007.
CHESNAIS, Franois. Capitalismo de Fim de Sculo. In: COGGIOLA ,
O. Globalizao e Socialismo. So Paulo: Xam, 1997.
DELGADO, G. C. O setor de subsistncia na economia e na sociedade
brasileira: gnese histrica, reproduo e configurao contempo-
rnea. IPEA: Texto para discusso n. 1025, 2004.
DIEESE. Departamento Intersindical de Estatstica e Estudos Socioeco-
nmicos. http://turandot.dieese.org.br/icv/TabelaPed?tabela=5.
Acesso em 12/mar/2010.
. A Situao do Trabalho no Brasil, So Paulo: DIEESE ,
2001.
FERNANDES, Florestan. A Revoluo Burguesa no Brasil. Rio de
Janeiro: Zahar, 1981.
FILGUEIRAS, Luiz Mattos. Histria do Plano Real. So Paulo: Boi-
tempo, 2000.
GORZ, Andr. Misres du prsent. Richesse du possible, Paris: Gali-
le, 1997.
HAYEK, Friederich von. O Caminho da Servido, So Paulo: Editora
Globo, 1977.
IANNI, Octvio. A Sociedade Global, Rio de Janeiro: Ed. Civilizao
Brasileira, 1992.
IBGE. www.ibge.gov.br. Acesso em 08/10/2010.
IVO, Anete Brito Leal, Viver por um fio: pobreza e polticas sociais . So
Paulo: Annablume; Salvador: CRH/UFBA, 2008.
KALLEBERG, Arne L. O crescimento do trabalho precrio: um de-
safio global. Revista Brasileira de Cincias Sociais, So Paulo,
ANPOCS, 24, 69, Fev. 2009.
KURZ, Robert. O Colapso da Modernizao, So Paulo: Paz e Terra,
1992.
MARX, Karl. O capital crtica da economia poltica, Rio de Janeiro,
Civilizao Brasileira, 1980.
. O capital crtica da economia poltica. livro I, vol. 2.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1980.
45
Adilson Marques Gennari
e ENGELS, Friederich. O Manifesto Comunista. So
Paulo: CHED Editorial, 1980.
MATTOSO, Jorge. O Brasil Desempregado. So Paulo: Fundao Per-
seu Abramo, 2001.
MDA, Dominique. O Trabalho. Um valor em vias de extino. Lis-
boa: Edies Fim de Sculo, 1999.
MZROS, Istvn. Ir Alm do Capital. In: COGGIOLA, Osvaldo.
Globalizao e Socialismo, So Paulo: Editora Xam, 1997.
. Para Alm do capital. So Paulo, Campinas: Boitempo /
Editora da Unicamp, 2002.
OIT. Relatrio sobre as tendncias Mundiais do Emprego, 2009.
OLIVEIRA, Francisco de. Collor: a falsificao da Ira. Rio de Janeiro:
Imago, 1992.
. O momento Lnin. So Paulo, Revista Novos Estudos
75, jul-2006.
. Neoliberalismo y sectores dominantes. In: Basualdo ,
Eduardo M.; Arceo, Enrique, Neoliberalismo y sectores domi-
nantes. Tendencias globales y experincias nacionales. Buenos
Aires: CLACSO, 2006, p. 274.
PIORE, Michael & SABEL, C. The Second Industrial Divide. NY:
Basic Books, 1984.
PNUD. Superar la Pobreza Humana. Informe del PNUD sobre la po-
breza, Nova York, 2000.
POCHMANN, Marcio. Atlas da Excluso Social, 2004, v. 5, p. 53.
REGO, Jos Mrcio e MARQUES, Rosa. Economia Brasileira. So
Paulo: Saraiva, 2000.
RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formao e o sentido do Brasil.
So Paulo: Cia. das Letras, 1995.
SADER, Emir (org.). Ps-neoliberalismo, So Paulo: Paz e Terra,
1995.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Globalizao: Fatalidade ou Utopia.
Porto: Afrontamento, 2001.
(org.). A Globalizao e as Cincias Sociais, So Paulo:
Cortez, 2002.
SUISSO, Flvia. Trabalho informal o Brasil Contemporneo. Disponvel
em: http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/18551/
Trabal ho_Informal _no_Brasi l _Contempor%C3%A2neo.
pdf?sequence=2. Acesso em 15/mar./2010.
SALM, C. Sobre a recente queda da desigualdade de renda no Brasil: uma
leitura crtica. Braslia: IPEA, v.2 p. 279 a 297, 2006.
46
Globalizao, Estado, neoliberalismo e desigualdade social no Brasil
VALOR ON LINE. Disponvel em: http://g1.globo.com/economia-e-
negocios/noticia/2010/05/bolsa-familia-nao-livra-a-maioria-da-
extrema-pobreza.html. Acesso em 14-06-2010.
WALLERSTEIN, Immanuel. The capitalist world-economy, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1991.
WEISSHEIMER, Marco Aurlio. Bolsa Famlia: avanos, limites e
possibilidades do programa que est transformando a vida de
milhes de famlias brasileira. So Paulo: Perseu Abramo, 2006.
47
Gesto da subjetividade e novas formas de
trabalho: velhos dilemas e novos desafios
Felipe Luiz Gomes e Silva
a repugnncia dos operrios ao trabalho esmigalhado,
intenso e repetitivo
Este texto tem por objetivo tornar evidente alguns aspectos
fundamentais que so inerentes ao trabalho repetitivo realiza-
do na indstria metal-mecnica, em especial na automobilstica.
Como sabido, esta ltima, principalmente aps a introduo da
esteira transportadora, enfrenta a repugnncia dos operrios ao
trabalho alienado, fragmentado e intenso.
Como demonstra a histria do capitalismo, a tentativa de
engajar a fora de trabalho por meio dos incentivos salariais no
eliminou a repugnncia dos operrios aos mtodos tayloristas e
fordistas de controle do processo de trabalho. No ano de 1914,
para manter 14 mil operrios trabalhando na fbrica, H. Ford
precisava admitir 53 mil por ano, somente aps a introduo do
estmulo salarial (The Five Dollar-Day) conseguiu que a rotao
de pessoal declinasse para 6.508. Os conflitos entre o capital e a
classe operria passam a moldar, no decorrer das lutas de resistn-
cia, novas formas de gesto da subjetividade que buscam a adeso
dos trabalhadores ao processo de produo de mercadorias.
48
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
O absentesmo, o turnover, o trabalho mal feito e at a sabota-
gem tornaram-se as chagas da indstria automobilstica ameri-
cana: Fortune, revista mensal da elite empresarial, que descreve
com certo requinte de pormenores essas manifestaes da resis-
tncia operria a mtodos organizacionais e de dominao que
no mudaram desde o incio do taylorismo. (...) O turnover, isto
, a mobilidade voluntria dos trabalhadores que mudam de em-
prego em busca de condies de trabalho mais favorveis, um
tormento para os capitalistas. A taxa mdia na Ford, em 1969,
foi de 25%, representados essencialmente pelos operrios mais
jovens (...) Alguns desses operrios deixam seus cargos, estranha
um chefe de oficina, no meio dia, sem ir buscar o pagamento.
(...) As baixas de produtividade exprimem a resistncia dos tra-
balhadores explorao. Essa resistncia, que se manifesta pela
quebra dos ritmos, pela sabotagem dissimulada, pelo aumento
de peas falhadas, crtica para o patronato (Pignon e Querzola,
1980, p. 94-95).
A filsofa e educadora Simone Weil (1975), em uma con-
ferncia realizada para um auditrio operrio, no ano de 1937,
j havia revelado a especificidade dos denominados mtodos de
racionalizao (coero) do trabalho. A gnese da resistncia da
classe operria ao mtodo taylorista de racionalizao do traba-
lho explica-se, em parte, pela pretenso do capital em empregar
a cincia na matria viva, isto , nos seres humanos.
Para Braverman (1981), a racionalidade da organizao do
trabalho taylorista-fordista caracteriza-se pelo desejo do capital em
transformar os homens em perfeitas mquinas. Enquanto a esteira
mecnica, relquia brbara, transporta peas e componentes, os
proletrios, em postos fixos, realizam movimentos intensos e repeti-
tivos, a degradao do trabalho no sculo XX levada ao extremo.
Portanto, a crise da linha de montagem fordista inerente
sua natureza; mesmo com a introduo da esteira mecnica, o
trabalho humano continua sendo o elemento dominante, isto ,
a qualidade e a produtividade continuam dependendo, em parte,
49
Felipe Luiz Gomes e Silva
da vontade do trabalhador coletivo. Esta estreita relao entre os
aspectos subjetivos do processo de trabalho (motivao) e a pro-
dutividade material, alm de revelar a especificidade dos sistemas
produtivos organizados nos moldes fordistas, evidencia tambm
as origens de sua permanente crise, latente ou manifesta.
Desta forma, estamos diante de um caso muito especial
de administrao de recursos humanos, isto porque, em face
da constante rejeio da classe operria ao trabalho degradado,
desqualificado, repetitivo e intenso, surgem continuamente, para
alm das tticas dos incentivos salariais, novos estratagemas
gerenciais que buscam a construo da adeso do comportamen-
to humano ao processo de produo fordista: o condicionamento
e a docilidade humana.
A docilidade dos operrios ser facilitada com a introduo
das polticas neoliberais, a mundializao do capital, o cresci-
mento da superpopulao relativa e o desemprego. Afirma Loc
Wacquant:
A regulao da classe operria pelo que Pierre Bourdieu chama de
a mo esquerda do Estado, simbolizada pelos sistemas pblicos
de educao, sade, seguridade e habitao, foi substituda nos
Estados Unidos ou suplementada na Europa ocidental por re-
gulaes a partir de sua mo direita, ou seja, a polcia, as cortes
e o sistema prisional, que esto se tornando cada vez mais ativos e
intrusivos nas zonas inferiores do espao social (2003, p. 73).
O desenvolvimento do capitalismo ocorre em espaos his-
toricamente constitudos, os sistemas produtivos convivem com
uma grande heterogeneidade de formas organizacionais, vrias
maneiras de organizar e de precarizar o trabalho. A forma toyo-
tista de explorao do trabalho flexvel, por exemplo, que no
elimina a tarefa fragmentada e repetitiva, convive com avanados
processos de produo automatizados e, tambm, com a extra-
o da mais-valia absoluta.
50
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
o suplcio da execuo de um trabalho esmigalhado,
o simulacro de vida: o que mudou?
possvel perceber, em significativas expresses de lingua-
gem, a raiz da permanente crise do processo de trabalho tayloris-
ta-fordista. Diz, por exemplo, um operrio que trabalha na linha
de montagem: a execuo de um trabalho esmigalhado torna-se
um suplcio (Friedmann, 1981).
Para muitos trabalhadores, somente o refgio do hbito
construdo pela regularidade dos gestos manuais repetitivos
possibilita algum alvio para o sofrimento humano. Na defesa
de certo nvel de bem-estar, preciso que o trabalhador execu-
te as tarefas numa cadncia que no demande muita assiduidade
da ateno; felizmente, poder trabalhar pensando em outra coisa
(esprito deriva) evita que a racionalizao (coero) do pro-
cesso de produo seja total, perfeita.
Esse sistema produziu a monotonia do trabalho. Dubreilh e Ford
dizem que o trabalho montono no penoso para a classe ope-
rria. (...) Se realmente acontece que com esse sistema a monoto-
nia seja suportvel para os operrios, talvez o pior que se possa
dizer de um tal sistema. Certo que a monotonia do trabalho co-
mea sempre por ser um sofrimento; se chega ao hbito, custa
de uma diminuio moral. Na verdade, ningum se acostuma a
isso, a menos que se possa trabalhar pensando em outra coisa.
Mas, ento, preciso trabalhar num ritmo que no exija muita
assiduidade da ateno de que a cadncia do trabalho precisa.
(Weil apud Bosi, 1979, p. 124).
Mas a cincia da administrao avana e no d trguas,
persegue, sem descanso, novas teorias (ideologias) que permi-
tam ao chefe da oficina tudo conhecer; preciso integrar o es-
prito do trabalhador ao processo de produo, isto , alcanar
o controle total do ser humano. A busca de uma perfeita racio-
nalizao/servido que evite o desenvolvimento de prticas
51
Felipe Luiz Gomes e Silva
defensivas (o devaneio, esprito deriva, os boicotes, as greves
selvagens) ser, para o infortnio dos seres humanos, o pri-
vilegiado tema de pesquisa das cincias comportamentais estadu-
nidenses e, em especial, da psicologia aplicada administrao.
A tentativa de capturar a subjetividade humana via estmulos sa-
lariais, incentivos psicolgicos, falsa participao, propagandas
mercadolgicas no de hoje.
Desde a conhecida Experincia de Hawthorne realiza-
da na Western Electric em Chicago, na Amrica do Norte, nos
anos de 1927 a 1932, em uma linha de montagem de peas de
telefones que a teoria da administrao ressalta a importn-
cia da motivao psicolgica para a construo da lealdade dos
trabalhadores para com a empresa. O movimento de relaes
humanas na indstria pioneiro na defesa da utilizao dos
incentivos simblicos como forma de estimulao e de condicio-
namento da conduta operria. Por exemplo, a Sala de Terapia de
Tenses Industriais, constituda por uma equipe de psiclogos
conselheiros, tinha como funo primordial assegurar uma or-
ganizao que operasse sem atritos (smooth-working) e com o
mximo de rendimento (Friedmann, 1981).
Na realidade, ao pretender que os operrios acreditem que
so responsveis pelas chamadas tenses industriais, o papel
da psicologia tem sido o de negar as origens sociais, polticas e
econmicas dos conflitos de classe. Desejam os gestores que os
operrios sejam transformados em perfeitas mquinas, isto , que
a adaptao psicofsica se realize sem resistncias e imperfeies.
A adaptao psicofsica ao intenso ritmo da produo pre-
judica o corpo e a mente dos operrios e das operrias. Exige,
constantemente, um particular dispndio de energia nervosa que
provoca um novo tipo de fadiga humana (Gramsci, 1978).
Em relao a esse novo tipo de fadiga, as falas dos operrios
e das operrias que reproduzem gestos estereotipados so ricas
em revelao. A sensao do corpo anestesiado e do entorpeci-
52
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
mento fsico rompe com a noo de tempo; a vida humana no
passa de um simples arremedo, um simulacro.
como um longo deslizar glauco, do qual se desprende, depois
de certo tempo, uma espcie de sonolncia ritmada por sons,
choques, clares, ciclicamente repetidos, regulares. A msica
informe da linha de montagem, o deslizar das carcaas cinzen-
tas de chapas brutas, a rotina dos gestos: sinto-me progressi-
vamente anestesiado. O tempo para. (...) como uma aneste-
sia progressiva: poderamos contentarmo-nos com o torpor do
nada e ver passar meses talvez anos, por que no?(...) O ver-
dadeiro perigo comea quando se suporta o choque inicial, o
entorpecimento. Da esquecer at mesmo a razo da prpria
presena na fbrica e satisfazer-se com o milagre de sobrevi-
ver. Habituar-se. Habituarmo-nos a tudo, ao que parece. Evitar
choques, proteger-se contra tudo que incomoda. Negociar com
o cansao. Refugiar-se num simulacro de vida (Linhart, 1986,
p. 12; 43).
O longo trecho anteriormente citado um claro testemunho
do sofrimento humano que tem como causa inconteste o traba-
lho alienado e degradado. Recentemente, como resultado de suas
pesquisas cientficas, Dejours (1987) revela que o sofrimento, a
ansiedade e o medo dos trabalhadores na linha de montagem for-
dista derivam de um ritmo imposto pela gerncia que exige uma
elevada carga psicossenssorial motora. Assim ele se expressa:
A ansiedade responde ento aos ritmos de trabalho, de produo,
velocidade e, atravs destes aspectos, ao salrio, prmios, s bo-
nificaes. A situao de trabalho por produo completamente
impregnada pelo risco de no acompanhar o ritmo imposto e de
perder o trem (Dejours, 1987, p. 73).
A constante rejeio da classe operria ao trabalho de-
gradado e a acirrada competio mundial impulsionam a crise
(crise aberta) do sistema de produo taylorista-fordista, locus
53
Felipe Luiz Gomes e Silva
privilegiado do trabalho desqualificado e repugnante. Esses as-
salariados reivindicam com as greves selvagens mudanas
fundamentais na forma de organizao do trabalho. Segundo
C. Dejours (1987), as expresses abaixo as cadncias infer-
nais e abaixo a separao do trabalho intelectual e manual
representam nitidamente uma total recusa dos proletrios in-
suportvel degradao fsica e mental provocada pela intensi-
ficao do ritmo de produo. So lutas realizadas no interior
da indstria automobilstica que apontam para a autonomia e
emancipao da classe operria, para a autogesto do processo
produtivo.
Essas greves selvagens confirmam a escolha de 1968 como re-
ferncia histrica. Greves selvagens e greves de operrios no
qualificados eclodem espontaneamente, muitas vezes margem
das iniciativas sindicais. Elas rompem a tradio reivindicativa
e marcam a ecloso de temas novos: mudar a vida, palavra
de ordem fundamentalmente original, dificilmente redutvel, que
mergulha o patronato e o Estado numa verdadeira confuso, pelo
menos at a atual crise econmica, que tende a atenuar as reivin-
dicaes qualitativas (...) Palavras de ordem como abaixo as ca-
dncias infernais, abaixo a separao do trabalho intelectual e
manual, mudar a vida atacam diretamente a organizao do
trabalho (Dejours, 1987, p. 24-25).
A resistncia absentesmo, boicotes, greves selvagens,
esprito deriva e a acirrada competio pelos mercados nacio-
nais e internacionais justificam os altos dispndios com os estra-
tagemas gerenciais que buscam, para alm da adaptao psicof-
sica do operrio ao ritmo da esteira, o envolvimento espiritual e
mental (engajamento estimulado) dos proletrios com o traba-
lho alienado e fragmentado.
Os trabalhadores precisam ser participativos, leais e moti-
vados, ou seja, escravos contentes. Aps pesquisas realizadas em
programas de engajamento estimulado, revela Alves:
54
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
A General Motors chegou a pagar trs mil dlares por hora para
um grande psiclogo desenvolver a programao dos cursos de trei-
namento para o trabalho participativo e para elaborar o material
didtico a ser usado. O importante aqui enfatizar que os cursos
visam, como prioridade, mudar a identidade do trabalhador para
que ele passe a ver a empresa com novos olhos. Ao invs de ficar
sempre vendo conflitos entre a classe trabalhadora e os patres, so
levados a pensar que possvel ter um relacionamento amigvel, de
famlia, e chegar a acordos consensuais (1987 p. 42).
Nos Estados Unidos, a burocracia sindical aceita o progra-
ma participativo conhecido como UAW-Ford Employee Invol-
vement, mas as greves selvagens questionam e lutam contra
o acordo de cpula. Segundo Bernardo (2000), a caracterstica
fundamental dessas lutas operrias, as greves selvagens, era a
sua inovao em termos de combate e de propostas organizati-
vas. Essas lutas, com suas estratgias de recusa explorao do
trabalho, datam de 1950 (mais cedo em alguns pases da URSS)
at o incio de 1980. Os operrios as conduziam, fora da buro-
cracia sindical, as assembleias e as comisses de trabalhadores
decidiam o encaminhamento. Ao exercitarem o controle direto
sobre os combates movimento autnomo colocaram em pau-
ta, durante a dcada de 1960 e 1970, no a mera propriedade for-
mal dos meios de produo. A questo central para os proletrios
era a estrutura organizacional, isto , puseram em pauta o poder
burocrtico e a heterogesto das fbricas.
Um artigo publicado no New York Times em 23 de agosto
de 1973 denuncia claramente a crise dos processos de trabalho
organizados nos moldes taylorista-fordistas. Por exemplo, a em-
presa Fiat Motor Company, em Roma, teve nada menos que 21
mil funcionrios ausentes em uma segunda-feira e o absentesmo
mdio era de 14 mil trabalhadores por dia. Desta forma, avana
a constante necessidade de motivar os operrios para o traba-
lho fragmentado e intenso, a ideologia gerencial cria novas for-
mas de engajar e administrar (controlar) a recusa operria.
55
Felipe Luiz Gomes e Silva
novamente a intensificao do trabalho repetitivo e o
engajamento estimulado
Como resposta crise aberta do taylorismo-fordismo, surge,
na segunda metade do sculo XX, no Japo, o sistema de produ-
o em massa flexvel (Just in time/Kanban/CCQ/Kaizen/Multi-
skill). Sistema este que desenvolve uma nova maneira de gerenciar
a fora de trabalho, que leva intensificao do ritmo de produo
a padres extremos (management by stress), uma vez que adicio-
na, ao gesto repetitivo dos operrios, o engajamento total.
A sociloga Danile Linhart revela que a estratgia da empre-
sa flexvel consiste em dominar a conscincia dos trabalhadores,
induzindo la mentalit des pompiers (mentalidade dos bombei-
ros): sempre prontos e em alerta para realizarem tarefas repeti-
tivas com a qualidade e a produtividade requeridas pelo capital
(apud Santon, 1999). Segundo C. Dejours:
O autocontrole japonesa constitui um acrscimo de trabalho e
um sistema diablico de dominao autoadministrado, o qual supe-
ra em muito os desempenhos disciplinares que se podiam obter pe-
los antigos meios convencionais de controle (Dejours, 1999, p.49).
Na New United Motor Manufacturing Inc. Califrnia
(EUA), os ciclos de trabalho so muito curtos, o incio e o tr-
mino de uma tarefa multifuncional dura 60 segundos (Womack ,
Jones, Roos, 1992). Na empresa Suzuki, em Kosai (Japo), o ope-
rrio desenvolve uma sequncia de movimentos fsicos em um
ritmo que cadenciado pelo som de msica sinttica; ele monta,
em um estado mental quase hipntico, um automvel de porte
mdio a cada 58 segundos (Ocada, 2002).
Segundo a experincia de um jornalista brasileiro que tra-
balhou como arubaito (trabalho temporrio e precrio) na Kubo-
ta, no Japo fbrica de tratores e de implementos agrcolas ,
as tarefas so pesadas e repetitivas. Ele executava quatro tarefas
56
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
diferentes (cargo enriquecido) e recebia remunerao de 12 reais
por hora; mas no tinha carteira assinada, no ganhava 13 sal-
rio e tampouco fundo de garantia. Assim ele se expressa:
Eu apertava parafusos, empurrava mquinas para a linha de
produo, buscava peas, levava caixas vazias para o depsito.
Quanto mais trabalhava, mais ouvia hayaku (mais depressa). Fiz
uma coisa imperdovel nas relaes trabalhistas locais: reclamei
do abuso e sugeri mudanas. O sistema japons detesta queixas e
abomina mudanas (Higobassi, p. 109, 1998).
Mesmo diante dessas evidncias empricas, alguns pesquisa-
dores, tais como Womack et al. (1992) e Hirata (1998), defendem
a tese de que a tarefa polivalente desempenhada pelos operrios
japoneses supera a ciso entre o trabalho manual e intelectual,
isto , requalifica o processo de trabalho.
Na verdade, o exerccio da multifuncionalidade (multi-
skill) tem gerado um trabalhador pluriparcelar, engajado, flexvel e
proativo, ou seja, extremamente explorado pelo capital. Com a in-
troduo dos crculos de trabalho, da reduo dos estoques amor-
tecedores e do princpio da melhoria contnua (kaizen), aprofunda-
se, na realidade, o processo de alienao do trabalho: a apropriao
pelo capital do denominado saber tcito da classe operria.
De acordo com Nonaka (1991), com a introduo do Sis-
tema JIT/Kanban e dos crculos de trabalho, determinados co-
nhecimentos (saberes tcitos) deixam de ser monoplio de al-
guns poucos operrios e so incorporados organizao pela
gesto da empresa, isto , ao total domnio do capital.
Dessa forma, emerge da uma nova configurao organiza-
cional que, aliada ao enfraquecimento dos direitos trabalhistas e
coero direta do mercado sobre a subjetividade humana, permite
uma (re)definio da forma de explorao da fora de trabalho.
Para Pierre Bourdieu (1998), a precariedade das relaes de
trabalho gera uma nova forma de opresso: a gesto racional dos
57
Felipe Luiz Gomes e Silva
recursos humanos por intermdio da insegurana e do medo,
a flexplorao. Essa coero denominada de regime hege-
mnico desptico por Burawoy (1990) ou de new regime of su-
bordination por Garrahan et al. (1994). Alguns dos resultados
da aplicao dessas novas tcnicas gerenciais so as doenas e as
mortes provocadas pela overdose de trabalho (Carvalho, 1995;
Dejours, 1987).
No Japo, interessante estudo do Dr. Tetsuro Kato demonstra
que a fora humana empregada tem vivenciado um fenmeno
denominado karoshi, ou seja, morte por excesso de trabalho.
Tecnicamente, aplica-se esse termo sociomdico para descrever
doenas, em geral cardiovasculares, ocasionadas pelo dispndio
desumano de horas e energia fsica e psquica nas atividades pro-
dutivas. Esse estilo de consumo da fora de trabalho est sendo
denominado de sete s onze porque os empregados saem de
casa s sete da manh e somente retornam ao lar s onze horas
da noite (Carvalho, 1995, p. 22).
importante ressaltar que o discurso gerencial da quali-
dade, produtividade e multifuncionalidade transcende o mundo
fabril e contamina todos os espaos sociais, em especial as ins-
tituies educacionais e universitrias, terceirizando, assim, tare-
fas e funes pblicas.
A opresso da classe operria no local do trabalho traduz-
se em sofrimentos prolongados; na luta pela transio social e su-
perao do modo de produo capitalista, no basta coletivizar
as fbricas; necessria uma luta diria pela construo de uma
nova forma de organizao e gesto, ou seja, pela apropriao
real das foras produtivas (Bihr, 1998).
1
Simone Weil havia percebido que a superao da explora-
o do trabalho pode conviver com a opresso do operrio se a
1
Publicou o jornal China Daily que uma operria chinesa, aps trabalhar 24
horas em uma fbrica no sul da China, morreu por exausto (2005).
58
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
organizao da produo no for democratizada, assim, preci-
so superar o trabalho esmigalhado e repugnante.
Se amanh os patres forem expulsos, se as fbricas forem coleti-
vizadas, nada vai mudar quanto a este problema fundamental: o
que preciso para extrair o maior nmero possvel de produtos,
no necessariamente o que pode satisfazer aos homens que tra-
balham na fbrica (apud Bosi, 1975, p.12).
O trabalho fragmentado e intenso no privilgio dos
operrios fabris que operam na indstria automobilstica sob o
regime toyotista. Nas empresas de computao, a produo-pa-
dro definida para os digitadores e digitadoras exige, em mdia,
18 mil toques por hora, isto , operrio de escritrio deve dar
cinco toques no teclado a cada segundo, speed as skill (Soares,
1988).
As teleoperadoras de empresas de telemarketing devem res-
peitar o tempo mdio de atendimento (tempo mdio para passar
uma informao) de cerca de 29 segundos. As operrias traba-
lham, em geral, seis horas sentadas com 15 minutos para tomar
caf e cinco para ir ao banheiro; o ritmo e o controle das tarefas
so to intensos que no permitem a existncia de relaes inter-
pessoais. Muitas organizaes padronizam a fala e inclusive a
entonao da voz, nos controles das atividades esto includos os
scripts e os fluxogramas de atendimento. Em 1997, existiam 151
mil trabalhadores no setor de telemarketing, no ano de 1999 fo-
ram criados mais 90 mil novos postos (uma elevao de 46,15%);
nos anos seguintes o crescimento se manteve; em 2001 havia 450
mil operadores e operadoras (Nogueira, 2006).
Como sabemos, para F. W. Taylor, o homem deveria ser ge-
renciado como uma mquina desta forma contratou Carl Barth ,
famoso matemtico, para calcular os intervalos de descanso ne-
cessrios para um dia timo de trabalho; a administrao cien-
tfica exigia, alm dos incentivos monetrios, o respeito Lei da
59
Felipe Luiz Gomes e Silva
Fadiga. Mas nos canaviais do Brasil o trabalho intenso, fragmen-
tado e repetitivo realizado sem intervalos para o descanso, o
dia timo de trabalho estabelecido pelo capital sem o reco-
nhecimento das contribuies da cincia taylorista, o boia-fria,
sem reposio das energias fsicas, potssio, calorias, consumi-
do durante o processo produtivo (poda da cana) como carvo,
simples matria-prima.
Segundo o estudo (Centro de Referncia de Sade do traba-
lhador Universidade Metodista de Piracicaba), em dez minutos,
o boia-fria derruba 400 kg de cana, desfere 131 golpes de podo
e faz 138 flexes de coluna no dia, ele desfere 3.792 golpes e
faz 3.994 flexes. comum ter picos de 200 batimentos por mi-
nuto em repouso uma pessoa tem 50 a 60 (Coissi, Folha de S.
Paulo, 2008, C1).
De acordo com notcias recentes publicadas nos jornais, no
perodo de um ano faleceram 10 trabalhadores por exausto, o
karoshi do canavial, de 2004 a 2008 foram 20 mortos.
2
Para a sociloga Maria Aparecida de Moraes e Silva, os tra-
balhadores rurais, por causa do desemprego, aceitam qualquer
proposta de trabalho. No caso dos migrantes, eles chegam deven-
do a viagem para os gatos e no conseguem sair desse crculo
vicioso. (Folha de S. Paulo, 2005).
S na aparncia os trabalhadores e trabalhadoras (exr-
cito de reserva latente) migram em busca de emprego, na
realidade eles(as) so expulsos pelo pauperismo que persiste
em um pas dependente que desembolsa R$ 160 bilhes por
2
Preocupado com as mortes e as condies de vida dos canavieiros, solicitei,
no dia 29/09/05, via Internet, ajuda do Instituto Ethos. Na sua resposta esse
instituto afirma que apenas incentiva as empresas a gerirem os seus neg-
cios de forma tica e a divulgarem seu balano social, ou seja, nada pode
fazer em defesa dos seres humanos que so ultraexplorados pelo capital. No
final do texto, depois de encaminhar alguns stios de entidades do terceiro
setor, deseja-me boa sorte.
60
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
ano em juros da dvida pblica. As veias da Amrica Latina
continuam abertas, alguns pases tais como Venezuela, Bol-
via e Equador desejam estancar o processo de exportao de
trabalho acumulado.
superpopulao relativa, desemprego: velhos dilemas e
novos desafios
Como observamos, o regime mundializado de acumulao
de capital predominantemente financeiro tem exigido dos pa-
ses industrializados, assim como dos perifricos e dependentes,
uma (contra)reforma do Estado que impe uma reviso dos direi-
tos sociais conquistados pela classe trabalhadora. Com a perda
desses direitos e com o crescimento da superpopulao relativa,
a classe operria encontra-se diante do aumento da explorao
precarizada e flexvel do trabalho, trabalho-excessivo, trabalho-
parcial etc. (Bourdieu, 1998).
3
Mas, como sabemos, desemprego, trabalho excessivo,
parcial/precrio, depender de caridade no so novidades no
capitalismo. O sculo XIX prdigo na produo de aes fi-
lantrpicas e caritativas como resposta ao pauperismo, s se-
quelas produzidas pelo capital. H todo um arsenal de pr-
ticas produzidas pelos que temem que uma fasca eltrica
acenda a multido. So criadas as workhouses para os desem-
pregados, a Lei dos Pobres para os vagabundos, projetos de
renda mnima e de substituio de mquinas por indigentes
etc. (Bresciani, 2004).
3
Tem havido reaes crticas da classe proletria contra a logstica da preca-
rizao do trabalho. A pesquisadora Paula Marcelino demonstra nos seus
estudos como os operrios da Honda Brasil resistem intensificao do
processo de flexplorao do trabalho. Em fevereiro de 2000, os operrios
da Logstica Sumar Ltda., empresa terceirizada, realizaram uma greve que
contou com a adeso de todos os trabalhadores (2004).
61
Felipe Luiz Gomes e Silva
(....) se uma populao trabalhadora excedente produto neces-
srio da acumulao ou do desenvolvimento da riqueza no siste-
ma capitalista, ela se torna por sua vez a alavanca da acumulao
capitalista, e mesmo condio de existncia do modo de produ-
o capitalista. Toda a forma do movimento da indstria moder-
na nasce, portanto, da transformao constante de uma parte
da populao trabalhadora em desempregados ou parcialmente
empregados. Encontramos violentos protestos contra o trabalho
excessivo, at mesmo na crise algodoeira de 1863, num panfleto
dos fiandeiros de algodo de Blackburn (...) Muitos, em virtude
da falta de ocupao, ficam constrangidos a viver da caridade
alheia (Marx, 1980, p. 733-735).
Diante da possibilidade da emergncia de revoltas sociais
provocadas pelo excedente humano (superpopulao relativa
capacidade de empregar dos meios de produo), assim pensava
Cecil Rodes (1853-1902), milionrio e idelogo do imperialismo
ingls:
A ideia que acalento representa a soluo do problema social:
para salvar os 40 milhes de habitantes do Reino Unido de
uma mortfera guerra civil, ns, os polticos coloniais, devemos
apoderar-nos de novos territrios; para eles enviaremos o exce-
dente de populao e neles encontraremos novos mercados para
os produtos das nossas fbricas e das nossas minas. O imprio,
sempre o tenho dito, uma questo de estmago. Se quereis evi-
tar a guerra civil, deveis tornar-vos imperialistas (Rohdes, apud
Catani , 1981, p. 36).
4
Muito do que hoje se denomina terceiro setor, responsa-
bilidade social das empresas ticas e cidads, cooperativas au-
togestionrias e vrias outras atividades desenvolvidas no mer-
cado solidrio e competitivo so, na realidade, reaes s novas
4
O imperialista Rhodes havia presenciando, em 1895, no bairro operrio
de East-End londrino, uma assembleia em que proletrios clamavam: po,
po, po! ele o autor da frase: Se eu pudesse, anexaria os planetas.
62
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
expresses do pauperismo, uma questo social no resolvida.
O Estado Social mo esquerda do Estado desobriga-se de
suas funes pblicas e, como se o pauperismo fosse fruto da
escassez de recursos e/ou uma questo de reforma moral, o ter-
ceiro setor, as empresas ticas e cidads submetem a poltica
lgica do mercado. A solidariedade sistmica, uma vez substi-
tuda pelas boas aes voluntrias, refilantropiza e despolitiza
as lutas contra as sequelas sociais produzidas pelo processo
de acumulao do capital. Os combates contra o pauperismo e
o desemprego so pulverizados e as lutas contra as polticas neo-
liberais transformam-se em possveis aes pragmticas e ime-
diatistas.
O dito terceiro setor, instrumento da estratgia neoliberal, as-
sume a funo de transformar o padro de respostas em sequelas
da questo social, constitutivo de direito universal, sob a res-
ponsabilidade prioritria do Estado, em atividades localizadas e
de auto-responsabilidade dos sujeitos portadores das carncias;
atividades desenvolvidas por voluntrios ou implementadas em
organizaes sem garantia de permanncia, sem direito. Trans-
forma-se, como vimos, o sistema de solidariedade universal em
solidariedade individual (Montao, 2002, p. 62).
Demonstra Mrcio Magera (2005), em sua pesquisa, como
as indstrias se apoderam do trabalho das denominadas Co-
operativas de Reciclagem de Lixo e estabelecem preos extre-
mamente baixos para a mercadoria, sucatas de vrios tipos.
Essa populao, integrada ao circuito do capital, vive do traba-
lho precrio e flexvel no limite da subsistncia fisiolgica, ou
seja, abaixo da linha de pobreza. Praticam um sistema de auto-
gesto funcional ao regime de acumulao neoliberal com apoio
da prefeitura local.
Para Paul Singer, esses trabalhadores ambientais no
conquistaram uma condio melhor de vida (autonomia diante
da explorao do capital) porque o modelo ideal de cooperati-
63
Felipe Luiz Gomes e Silva
va no foi implementado (Magera, 2005). Creio que esta afir-
mao to clara que no merece comentrios, fala que silencia
o concreto.
As cooperativas instaladas no Nordeste do Brasil funcionam
como uma forma de terceirizao e flexibilizao do trabalho, a
autogesto , de fato, funcional ao capital e ao neoliberalismo.
Diante dessa realidade, o sindicato dos txteis de Paulista, em
Pernambuco, por exemplo, assiste reduo anual da sua base
de afiliados. Uma cooperativa, instalada no Cear, est sendo
investigada pela procuradoria por denncias de trabalho assa-
lariado disfarado. Em verdade, essas organizaes aproveitam
o denominado custo chins da fora de trabalho nordestina
(Lima, 1997). Portanto, o que encontramos de concreto, no ser-
to do Nordeste, a presena do trabalho ultra flexplorado, o
ideal de uma classe proletria emancipada pelo cooperativismo
autogestionrio no passa de um conto de fadas. A competio
mundial entre os capitais intensifica a explorao do trabalho:
(...) no plano econmico, a rplica capitalista luta do proletaria-
do contra sua explorao tem sido sempre de aumentar a inten-
sidade e mais ainda a produtividade do trabalho, desenvolvendo
os meios de produo com
5
o objetivo de aumentar a mais-valia
relativa. E pelo mesmo caminho que o conduz concorrncia
entre os capitais particulares, nica possibilidade, para determi-
nado capital, de realizar uma taxa de lucro superior taxa m-
dia, que em ltima anlise de aumentar, ainda neste caso, a
produtividade do trabalho (Bihr, 1998, p. 127).
Com o novo trato dado questo social terceiro setor,
cooperativas autogestionrias, empresas cidads , a superex-
plorao do trabalho avana em vrias frentes. Recente artigo
5
Segundo o Mapa do Fim da Fome da Fundao Getulio Vargas, 2001, cerca
de 52% de nordestinos so indigentes; 80% da regio semirida e conta
com 70 mil audes, gua concentrada nas mos de poucos.
64
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
revela como empresas, diante da possibilidade dos baixos custos
salariais, tm transferido para presdios suas linhas de monta-
gens. Afirmam essas empresas que uma excelente oportunidade
de praticar uma ao social responsvel, ou seja, a recuperao
dos presos. A Bognar Metais, empresa cidad, que montou uma
metalrgica no Presdio Adriano Marrey (Guarulhos), emprega
37 detentos que recebem R$ 300,00 por ms; na fbrica o piso
salarial mnimo de R$ 580,00. Uma das grandes vantagens
para essas indstrias que abraam essa causa social, alm dos
baixos custos, o envolvimento dos operrios-presos com a pro-
duo, a grande motivao deriva da possibilidade da reduo da
pena, trs dias trabalhados podero significar um dia a menos no
presdio (Estado de S.Paulo, B5, 11/09/05).
A construo de cooperativas verdadeiramente autogestio-
nrias e socialistas dever ser obra da prpria classe trabalhado-
ra consciente. A possibilidade da construo de uma nova forma
de sociabilidade humana no mediada pelo capital est inscrita
nas contradies do real, no processo de luta social historicamen-
te situada. A importao de outros contextos e tempos histricos,
de doutrinas ossificadas (modelos sem vida), dificilmente con-
tribuir para a autonomia da classe trabalhadora (Rios, 1987).
Para que esse processo de transformao acontea autoges-
to, socialismo e superao da alienao do trabalho , torna-se ne-
cessria a presena do sujeito; sem sua participao no h histria.
o sujeito que rompe com a estrutura de opresso/explorao e no
o sistema que, obediente a determinadas leis frreas, rompe-se na-
turalmente; o progresso tcnico, condio necessria, no sufi-
ciente, a luta por novas formas de organizar a produo indispen-
svel, a burocracia fabril heterogestionria com sua hierarquia de
cargos e salrios necessariamente desptica (Bihr, 1998).
6
6
No devemos confundir progresso tcnico com desenvolvimento das foras
produtivas. K. Marx no fez profecias quando descobriu as leis de tendn-
65
Felipe Luiz Gomes e Silva
A reflexo crtica sobre a organizao burocrtica do traba-
lho e suas correspondentes ideologias gerenciais no pode esperar
a promessa do mundo novo, ou seja, o seu questionamento deve
fazer parte das preocupaes tericas e polticas do conjunto da
classe trabalhadora, dos intelectuais, dos tcnicos e dos operrios
e operrias.
Durante as lutas da Comuna de Paris (1871), os trabalhado-
res defendiam vrias medidas relacionadas a reformas culturais,
solidariedade social imediata, organizao do trabalho e
superao da propriedade privada. Para Joo Bernardo (2000), o
insucesso da Comuna de Paris foi o fracasso da primeira tentati-
va do proletariado em instaurar o socialismo no Ocidente, isto ,
os trabalhadores possuam uma subjetividade no individualista,
eram socialistas.
As fbricas e oficinas abandonadas pelos proprietrios em razo
da guerra seriam administradas pelos sindicatos do ramo respec-
tivo, at que se decidisse quanto s indenizaes correspondentes.
Nos Ateliers cooperativos do Louvre, encarregados de reparar e
fabricar armas, cada ncleo de trabalho escolhe seu responsvel
(Gonzlez, 1989, p. 82).
O sucesso inicial da experincia de Robert Owen (1825),
nas cooperativas de New Harmony, no se explica pelo seu hu-
manitarismo paternalista de capitalista esclarecido, mas devido
vantagem que o empreendimento industrial desfrutava no co-
meo, a reduo da jornada do trabalho conduziu a uma inten-
sificao da produtividade. Com a adoo dessas prticas pelas
empresas concorrentes a experincia cooperativista de Owen foi
cia do capital; o capitalismo avana em direo ao processo de automao
da produo, mas esse caminho no linear. O capital, enquanto relao
social, cria e recria formas atrasadas de explorao do trabalho, boias-
frias, trabalho escravo, trabalho domiciliar, cooperativas funcionais ao
neoli beralismo.
66
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
levada falncia (Mszros, 2005). Embora a propriedade fosse
coletiva e a remunerao igualitria os pioneiros ficaram insa-
tisfeitos com a gesto autoritria, esses trabalhadores continua-
vam, na verdade, despossudos do controle do processo de traba-
lho (Bernardo, 2000).
(...) autogesto deve ser compreendida em sentido generalizado
e que no se pode realizar seno por uma revoluo radical, que
transforme completamente a sociedade em todos os planos, dia-
leticamente ligados, da economia, da poltica e da vida social
(Guillerm et al., 1975, p. 41).
Portanto, as cooperativas de produo tendem, conforme a
situao do mercado, a obrigar os operrios a intensificarem o rit-
mo de produo. Os trabalhadores, submetidos competio mer-
cantil, enfrentam a situao contraditria de governar a si mes-
mos com todo absolutismo necessrio, ou seja, passam a atuar
como seus prprios patres capitalistas (Luxemburgo, 2003).
A reflexo sobre as lutas histricas dos trabalhadores e tra-
balhadoras, suas vitrias e conquistas, limites e contribuies, de-
vem orientar os novos combates, isso quer dizer que as experin-
cias no devem ser transformadas em doutrinas ossificadas
e nem em modelos previamente definidos. Como afirma Brito
(1983), a memria uma arma da classe operria. A tomada da
Ford do Brasil, por exemplo, aconteceu em 23 de novembro de
1981 e teve como antecedentes histricos as greves de 1978. Es-
tavam na pauta dos conflitos, entre outros itens, a destruio da
hierarquia fabril e a criao de Comits de Fbricas autnomos.
Nas greves de 1978 a Ford esteve na vanguarda, junto com a Sca-
nia: e quando a Ford parou, pesou decisivamente no movimento
geral, dando-lhe um peso incalculvel, que o tornou vitorioso
nesse ano. Nas greves de 1980, na Ford no houve um nico pi-
quete; a conscincia da auto-organizao foi um exemplo para
a classe operria, conscincia no ficava restrita simples lutas
67
Felipe Luiz Gomes e Silva
sindicais, aumentos de salrios e novos arranjos de tarefas (BRI-
TO, 1983, p. 39).
Somente para citar, surge atualmente, no sul do Brasil, um
movimento de ocupao de fbricas que se posiciona contra as
propostas de criao de cooperativas. Os operrios e operrias que
participam desse movimento reivindicam a estatizao imediata
e a instalao de conselhos eleitos pelos trabalhadores. Em Iara,
Santa Catarina, 150 operrios e operrias da Vectra Revestimen-
tos Cermicos acamparam nos portes da empresa contra o seu
fechamento e o desemprego (Fbricas Ocupadas, 2005).
O Movimento das Mulheres Camponesas do Brasil luta por
cooperativas, agricultura familiar sem uso de agrotxicos, sade
pblica de qualidade e apoio do Estado
7
.
Portanto, podemos afirmar que, de diferentes formas, os tra-
balhadores e trabalhadoras continuam resistindo e lutando contra
a explorao do capital. Os caminhos devem ser abertos nas lutas
concretas orientadas pela constante reflexo histrica. Acredita-
mos que a memria e a reflexo terica so armas necessrias e
precisamos aprofundar nossos estudos sobre o significado da cha-
mada terceira revoluo industrial. Assim pensa R. Kurz:
Com as novas foras produtivas, j no possvel empregar de
forma rentvel grandes massas de fora de trabalho em quanti-
dade suficiente. Por isso, o barateamento das mercadorias desti-
nadas ao consumo dos produtores j no chega a garantir a acu-
mulao do capital. A mais-valia relativa torna-se insignificante.
A prova disso que o capital retoma a predominncia da mais-
valia absoluta. (...) Simultaneamente, deve cair o nvel histrico-
moral (Marx) atingido, dos custos de reproduo da fora de
trabalho, para que os salrios reais possam baixar em absoluto:
bens culturais, cuidados mdicos so, pouco a pouco, declara-
dos inacessveis ao nvel mdio do custo de vida (2005).
7
cf. www.mmcbrasil.com.br.
68
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
referncias bibliogrficas
ALVES, M. H. M. Multinacionais e os trabalhadores nos EUA. Lua
Nova, So Paulo, v. 3, n. 3, 1987, p. 40-47.
BENINI, Edi Augusto. Sustentabilidade e Autogesto: Um horizonte
macro de mudana a partir de experincias locais? (2011a). In:
GHIZONI, Liliam Deisy e CANADO, Airton Cardoso (orgs.).
Desenvolvimento, Gesto e Questo Social: uma abordagem
interdisciplinar Contagem MG: Didtica Editora do Brasil
LTDA-ME, 2011.
BERNARDO, J. Transnacionalizao do capital e fragmentao dos
trabalhadores. Ainda h lugar para os sindicatos? So Paulo: Boi-
tempo, 2000.
BRESCIANI, M. S. Londres e Paris no sculo XIX: O espetculo da
pobreza. So Paulo: Brasiliense, 2004.
BOURDIEU, P. Contrafogos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
BIHR, A. Da Grande Noite Alternativa: O movimento operrio eu-
ropeu em crise. So Paulo: Boitempo, 1998.
BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista: a degradao do
trabalho no sculo XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
BRITO, J. C. A tomada da Ford: o nascimento de um sindicato livre.
Petrpolis: Vozes, 1983.
BURAWOY, M. A transformao dos regimes fabris no capitalismo
avanado. Revista Brasileira de Cincias Sociais, n. 13, ano 5, p.
29-50, jun. 1990.
CATANI, A. M. O que imperialismo. Brasiliense: So Paulo, 1981.
CARVALHO, N. V. Autogesto: o nascimento das ONGs. So Paulo:
Brasiliense, 1995.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. So Paulo: Paz e Terra, 1999. v. I.
DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo da psicopatologia do tra-
balho. So Paulo: Obor/Cortezs, 1987.
FORD, H. Minha Vida e Minha Obra. Rio de Janeiro: Companhia
Editora Nacional, 1926.
FRIEDMANN, G. O futuro do trabalho humano. Lisboa: Moraes,
1981.
FREYSSENET, M. et al. Mudanas tecnolgicas e participao dos
trabalhadores: os crculos de controle de qualidade no Japo. Re-
vista de Adm. Empr., Rio de Janeiro, 25 (3): 5; 21 jul/set. 1985.
GOUNET, T. Fordismo e Toyotismo. So Paulo: Boitempo, 1999.
69
Felipe Luiz Gomes e Silva
GRAMSCI, A. Americanismo e Fordismo. In: Obras Escolhidas. So
Paulo: Martins Fontes, 1978.
GONZLEZ, H. A Comuna de Paris: os Assaltantes do Cu. So Pau-
lo: Brasiliense, 1989.
GUILLERM, A. e BOURDET, Y. Autogesto: mudana radical. Rio
de Janeiro: Zahar, 1975.
HELENA, H. S. Diviso social e processos de trabalho na sociedade
japonesa In: Estudos Japoneses Revista do Centro de Estudos
Japoneses da Universidade de So Paulo, v. 8, p. 35-42, 1988.
INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL Resposta do Ncleo de Atendimento. Disponvel em:
www.ethos.org.br. Acesso em 29 set. 2005.
KURZ, R. MAIS-VALIA ABSOLUTA. Disponvel em: http://obeco.
planetaclixp/. Acesso em 31 out. 2005
LIMA, J. Negcios da China: a nova industrializao no Nordeste.
Comunicao apresentada no SEMINRIO PRODUO FLE-
XVEL E NOVAS INSTITUCIONALIDADES . Rio de Janeiro,
18 a 20 de set. 1997.
LINHART, R. Greve na Fbrica (Ltabli). Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1978.
LUXEMBURGO, R. Reforma ou revoluo? So Paulo: Expresso Po-
pular, 2003.
MSZROS, I. A educao para alm do capital. So Paulo: Boitem-
po, 2005.
MARX, K. O capital. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1980, v. I e II.
MONTAO, C. O projeto neoliberal de resposta questo social e a
funcionalidade do terceiro setor. Lutas Sociais, n.8, p. 53-64, 2002.
NOGUEIRA, C. M. O Trabalho Duplicado: A diviso sexual no tra-
balho e na reproduo: um estudo das trabalhadoras de telema-
rketing. So Paulo: Expresso Popular, 2006.
OCADA, F. K. Nos Subterrneos do Modelo Japons os 3ks: Kitanai
(sujo), Kiken (perigoso) e Kitsui (pesado), 2002. Dissertao
(Mestrado) Programa de Ps-Graduao em Sociologia da
UNESP, Campus de Araraquara, So Paulo.
PIGNON, D.; QUERZOLA, J. Ditadura e Democracia na Produo
In: GORZ, A. Crtica da Diviso do Trabalho. So Paulo: Mar-
tins Fontes, 1980.
RIOS, G. O que cooperativismo. So Paulo: Brasiliense, 1987.
SANTON, J. Lusure mentale du salari d lautomobile. Intern@ . Dis-
ponvel em www.humanite.fr. Acesso em: 21 abr. 1999.
70
Gesto da subjetividade e novas formas de trabalho: velhos dilemas e novos desafios
SALERNO, M. S. A indstria automobilstica na virada do sculo . In:
ARBIX, G.; ZILBOVICIUS, M. (orgs.) De JK a FHC: a reinven-
o dos carros. So Paulo: Scritta, 1997, p. 503 -522.
SANTANA, M. A. e RAMALHO, J. R. (orgs.). Alm da Fbrica: tra-
balhadores, sindicatos e nova questo social. So Paulo: Boitem-
po, 2003.
SOARES, A. S. O que informtica. So Paulo: Brasiliense, 1988.
WEIL, S. A Racionalizao. Apud BOSI, E (org.). A condio operria
e outros estudos sobre a opresso. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1979.
WACQUANT. L. A penalizao da misria e o avano do neoli-
beralismo. In: SANTANA, M.; RAMALHO, J. Alm da Fbri-
ca. So Paulo: Boitempo, 2003.
WOMACK, J. P. et al. A Mquina que Mudou o Mundo. Rio de Janei-
ro: Campus, 1992.
referncias de jornais e revistas
MESMO EM, Japo ainda atrai trabalhadores brasileiros. Jornal Ni-
ppo-Brasil, Caderno Comunidade 3 A, de 26 de junho a 2 jul.
2002.
ESCRAVOS DA mquina. Higobassi, D., p. 108-109. Veja, 1 jul.
1998.
PRESDIOS esto virando fbricas. Estado de So Paulo, B5, 11 set.
2005.
FBRICAS Ocupadas Joinville /SC, Sumar e Itapevi /SP. Ano I, n.
3, ago. 2005.
TOLEDO, M. Procurador negocia fim dos gatos na cana Folha de S.
Paulo, p. C1, 2005.
COSSAI, J. Governo aperta o cerco nos canaviais de SP. Folha de S.
Paulo, p. C1, 2008.
71
sistema orgnico do trabalho: uma perspectiva
de trabalho associado a partir das prxis de
economia solidria
di A. Benini
introduo
De certa forma, podemos considerar a Economia Solidria
como um movimento que se situa no contexto do trabalho asso-
ciado, e tambm um movimento que promove, sobretudo, mlti-
plas combinaes e possibilidades.
Porm, importante considerar que tal diversidade no
fortuita, mas sim resultado de reiteradas tentativas de desmer-
cantilizao do trabalho, por meio e dentro de novas relaes
de produo. Eis a essncia de se buscar um tipo de organizao
econmica solidria baseada na autogesto.
Conforme j argumentamos em outros trabalhos (Benini,
2010; 2011a), em que pese a necessria priorizao de insero
monetria nos fluxos de riqueza societal dominantes, condio
para a sobrevivncia de um sem nmero de seres humanos, pos-
svel tambm identificar importantes elementos estruturantes,
alm daquela realidade imediata, em ebulio nesse processo.
verdade que nada garante, a priori, que tais elementos ou
componentes, de cunho mais estrutural, logo, portadores efetivos
de novas relaes sociais de produo, venham a se constituir
72
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
plenamente e com a necessria densidade ontolgica. Entretan-
to, igualmente possvel identificar, numa perspectiva dialtica,
pontos de ruptura ou inovao societal importantes na prxis da
Economia Solidria e que, se bem percebidos e compreendidos,
podem perfeitamente, dentro de um determinado projeto polti-
co, serem recombinados e potencializados.
justamente para evidenciar esse aspecto crucial para o
trabalho associado, vindo ou advindo das variadas prxis do mo-
vimento de Economia Solidria, o propsito deste texto.
Analisando tais prxis que observamos um componen-
te estruturante chave fruto da necessidade de se viabilizar ou
sustentar os empreendimentos de cunho solidrio, nas relaes
sociais, e autogestionrio, na sua perspectiva poltica que a
busca por meios de integrao econmica do trabalho. Tal com-
ponente estruturante tambm abre, como possibilidade ontol-
gica, no contexto do trabalho associado, a perspectiva de um
sistema orgnico do trabalho.
a economia solidria como prxis organizacional
Um fato importante a se considerar que no desenvolvimen-
to moderno do setor produtivo (considerando como ponto inicial
a Primeira Revoluo Industrial) os trabalhadores tiveram pouco
ou praticamente nenhum espao para sua auto-organizao.
Desse modo, as teorias organizacionais, e as tcnicas de
gesto correspondentes, desenvolveram-se sob a gide do traba-
lho assalariado, conforme os estudos organizacionais de Motta
(1980, 1981 e 1981a) j demonstraram exaustivamente.
Isso significa que a alienao do trabalho no diz respeito
apenas ao seu fruto material, mas tambm est relacionada com
as condies organizacionais, sociais e, em ltima anlise, com
as condies polticas de autodeterminao dos seres humanos
73
di A. Benini
enquanto trabalhadores, ou seja, na sua mediao com a nature-
za para obter valores de uso.
Sendo o trabalho reduzido a um mero fator de produo,
remunerado conforme o seu dispndio ou gasto no tempo o
trabalho assalariado h tambm uma inverso no propsito or-
ganizacional, que passa a estar centrado na produo de valores
de troca para a acumulao, e no na produo de valores de uso
para os seres humanos.
Nessa estrutura, o fator de produo trabalho um meio
de eficincia produtiva para se atingir aquela eficcia organiza-
cional, acima descrita, de acumulao. Logo, desenvolvido todo
um conjunto de padres organizacionais e tcnicas gerenciais,
no do ponto de vista do trabalho (ou tendo este como sujeito),
mas, sim, para o propsito de acumular capital. nesse sentido
que a administrao, enquanto objeto de estudo, entendida
tambm como ideologia, pois est determinada pelos pressupos-
tos dominantes das organizaes.
Naturalmente que tendo o trabalho como fator de produ-
o, praticamente como um objeto, esse ser visto e gerencia-
do na perspectiva do aumento de sua produtividade. Mesmo as
modernas tcnicas participativas, entre outros modismos que vez
ou outra esto em pauta, em ltima anlise, so sempre mecanis-
mos para melhorar aspectos motivacionais ou o envolvimento do
pessoal nos objetivos da organizao, buscando gerar um tipo de
comportamento organizacional mais adequado produtividade
e ao desempenho dos fluxos de acumulao.
Muito diferente, ou at mesmo ontologicamente oposto a
isso, seria considerar o trabalhador coletivo como mais que um
item de produo, mas, sobretudo, sujeito por excelncia de todo
o processo produtivo.
Na medida em que o trabalho posto como objeto, tem-se
tambm a heterogesto como base das organizaes modernas,
74
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
da mesma forma que, ao se ressituar o trabalho como sujeito,
ter amos a autogesto como base estruturante das organizaes.
A heterogesto foi, por mais de dois sculos, amplamente
desenvolvida e sofisticada, por meio de ostensivos estudos e pes-
quisas acadmicas (direcionados para este objeto e fim particu-
lar), sem falar de todo o apoio e aporte financeiro e institucional,
que lhe garante ampla sustentao e blindagem, criando todo um
sistema ontologicamente integrado, ou seja, orgnico ao capital.
J a autogesto vem a se colocar, inicialmente, apenas como
alternativa e resistncia frente quela situao j dada, no en-
contrando, portanto, espao sequer para iniciar seus primeiros
passos, tanto na perspectiva prtica quanto terica, ou seja, ini-
ciar de fato a sua efetiva prxis para, com isso, criar seus pr-
prios meios organizacionais e institucionais de sustentao.
Nesse contexto histrico, a autogesto se coloca como
opo dialtica e ontolgica ao trabalho assalariado de cunho
heterogestionrio, ou seja, sua anttese imediata. No uma
opo aberta entre dois caminhos possveis, mas, sobretudo,
uma opo dialtica que precisa construir sua sustentao on-
tolgica frente a um fato j consumado a instituio de uma
sociedade capitalista. Trata-se, ento, de um movimento que
primeiro se situa como resistncia e conflito, frente ao sistema
orgnico do capital, para em seguida constituir sua prpria ma-
triz organizacional e institucional.
Enquanto possibilidade dialtica, a autogesto experimen-
tou sua primeira formao e tentativa concreta em alguns mo-
mentos histricos de ruptura, como o caso notrio da Comuna
de Paris, e formas organizacionais especficas de trabalho asso-
ciado no movimento cooperativista, embora como tentativa de
auto-organizao de grupos com interesses comuns, ainda den-
tro do sistema orgnico do capital; logo, em conflito com ele.
Contudo, com a emergncia do desemprego de tipo estru-
tural no final do sculo passado, e, nesse mesmo contexto, a
75
di A. Benini
reafir mao do trabalho como mercadoria e, em consequncia,
o recrudescimento da sua explorao e precarizao, novamen-
te o trabalho, que antes havia conquistado mecanismos estatais
de proteo e relativa desmercantilizao por meio dos direitos
sociais (cuja amplitude e qualidade se diferem de um pas para
outro), passa para uma posio maior de vulnerabilidade, de ne-
cessria resistncia e conflito.
Nesse novo ciclo de resistncia do trabalho, frente aos in-
meros artifcios de espoliao, que a perspectiva da autogesto
ganha renovado espao como proposta de organizao do traba-
lho, dentro do movimento da chamada Economia Solidria.
Devido justamente ao no desenvolvimento pleno do que
seria, a rigor, uma forma de organizao do trabalho de matriz
autogestionria, que a sua primeira tentativa ou manifestao
a cooperativa tradicional recuperada e inserida como forma
principal de organizar os trabalhadores na proposta de Econo-
mia Solidria.
H que se considerar tambm as limitaes na forma or-
ganizacional das cooperativas, uma vez que estas, grosso modo,
so estruturadas, simultaneamente, por um sistema patrimonial
privado de cotas, um sistema produtivo fragmentado, um siste-
ma distributivo de mercado e um sistema de gesto com alguns
mecanismos decisrios de participao. Levando em conta tais
aspectos (de propriedade, distribuio e organizao), a rigor se
inserem como empresas capitalistas da mesma forma que as de-
mais, ainda que com algumas diferenciaes, pois igualmente es-
to baseadas na propriedade privada (amenizada pelo sistema de
cotas de grupos, vinculada ao trabalho), na fragmentao produ-
tiva (cada cooperativa ou unidade de produo isolada, ou seja,
elas competem entre si, no constituindo um sistema orgnico
ou algum tipo de coordenao integrada), e a sua distribuio
realizada dentro da lgica do capital (o determinante o valor de
troca das mercadorias).
76
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
Por sua vez, o movimento da Economia Solidria, na nossa
leitura, ao mesmo tempo em que se apoia na forma organiza-
cional de cooperativas, tambm evidencia essa mesma tenso e
subordinao estrutural e sistmica.
No por acaso que vrios movimentos e iniciativas, no
contexto da proposta de Economia Solidria, buscam reitera-
damente inventar novos elementos de sustentao, indo alm
do processo imediato de trabalho e produo, com destaque
criao de moedas sociais, cooperativas de crdito, novas
tecnologias sociais, mecanismos para se constituir uma esp-
cie de rede interorganizacional ou rede solidria, entre outras
iniciativas.
Isso pode ser explicado pela prpria natureza de se consti-
tuir um tipo especfico de relaes de trabalho que no se esgo-
tam na sua organizao produtiva mais imediata, mas se con-
solidam apenas em mediaes sistmicas que lhes sustentam.
exatamente nesse ponto que a Economia Solidria tambm pode
ser vista como prxis organizacional, pois o seu movimento dia-
ltico, de uma forma ou de outra, absorve a insuficincia (ou
mesmo impossibilidade) do desenvolvimento da autogesto den-
tro do modo de produo capitalista, uma relao antagnica e
contraditria por excelncia.
Se, por um lado, tal movimento contraditrio da proposta
de Economia Solidria indica pontos de acomodao, colocando
os empreendimentos ditos solidrios na condio de funcionali-
dade ao sistema orgnico do capital, por outro, fora outras for-
mas/meios de resistncia e inovaes sociais. justamente nesse
ponto que pretendemos evidenciar que: os movimentos contra-
ditrios de se buscar relaes de trabalho de base autogestion-
ria, no capitalismo, logo, movimentos de contestao do sistema
orgnico do capital, podem, numa lgica e estratgia dialtica
de enfrentamento direto, se converter e convergir num sistema
orgnico do trabalho.
77
di A. Benini
fundamentos e mediaes estruturantes
Dessa forma, reforamos aqui vrios apontamentos de cr-
tica social que evidencia ser necessria, como condio para se
reverter o estabelecido, uma perspectiva sistmica totalizante. O
termo totalizante aqui diz respeito a um sistema de organizao
da produo que no seja fragmentado e individualizado, mas,
sim, orgnico e progressivamente global ou na perspectiva de
um sistema comunal, e no no sentido totalitrio de dominao,
ou de outras formas de controle hierrquico, de um ou de mais
indivduos sobre os demais.
Ainda que um sistema orgnico de se organizar a produo,
e suas correspondentes relaes sociais, tenha dialeticamente um
horizonte global, importante frisar e ponderar quais so seus
fundamentos estruturantes elementares, que determinam todo o
conjunto de formas organizacionais e institucionais.
Se o trabalho a mediao fundamental da relao homem
e natureza (mediao de 1 grau), temos uma primeira determi-
nao estruturante, que possibilita ao homem evoluir como ser
social e histrico, e no apenas como ser biolgico em adaptao
ao seu meio. Dado o carter social e histrico da evoluo huma-
na, abre-se outra vez um novo horizonte de opes ontolgicas,
conforme as relaes sociais de trabalho e produo so estabe-
lecidas. Uma dessas opes, que justamente a dominante, diz
respeito a um tipo de relao social baseada no capital.
Segundo Mszros (2006), o capital estruturado por meio
de trs mediaes de 2 grau, a saber:
A propriedade privada dos meios de produo;
Intercmbio comercial, que submete o valor de uso
lgica de acumulao do valor de troca;
A diviso social e hierrquica do trabalho.
Por se tratarem de opes histricas e ontolgicas, no sig-
nificam uma espcie de fatalismo ou determinismo imutvel. O
78
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
que determinado o sistema social resultante de tais opes
estruturantes. Para a constituio de um sistema orgnico do tra-
balho, seria necessrio criar as mediaes fundamentais corres-
pondentes. Nessa perspectiva, para cada uma das mediaes do
capital, possvel a sua inverso dialtica para uma qualidade
ontologicamente oposta. Dessa forma, na sequncia, essas no-
vas mediaes poderiam assumir as seguintes formaes sociais
e histricas:
Propriedade Orgnica, anulando a propriedade privada;
Renda Sistmica, anulando a intermediao mercantil;
Autogesto e auto-organizao, anulando a diviso so-
cial e hierrquica.
Tais mediaes de novo tipo no podem ser simplesmen-
te idealizadas ou sugeridas como uma opo individualizada de
pessoas ou grupos. Trata-se de eixos estruturantes para uma ou-
tra sociabilidade; logo, no so simples remendos ou melhorias
inseridos dentro (e subordinadas pelo) sistema orgnico do capi-
tal, mas um outro sistema social que rivaliza com este, no sentido
de sua superao.
No possvel, a rigor, um ponto de inflexo a partir
de uma clula de pessoas, de alguns ncleos produtivos, ou
mesmo de um movimento social ou poltico, mas sim que a
inflexo inicial, para aquelas novas mediaes, somente se-
ria vivel j tendo a existncia de um novo sistema orgnico,
ou seja, com estruturas, instituies e fluxos suficientemente
aglutinados para promoverem um movimento de expanso in-
terno que se autossustente, dentro daquelas novas mediaes
de segundo grau.
Para isso, seria necessrio aglutinar, num novo arranjo
dialtico, um conjunto estruturante de instituies e/ou orga-
nizaes basilares dessa nova sustentabilidade, bem como os
eixos produtivos bsicos para as necessidades materiais desse
novo sistema .
79
di A. Benini
Enfim, para criar um ponto de ruptura, com densidade sufi-
ciente para impor tal dinmica autossustentvel, as novas media-
es colocadas simultaneamente criam, e so criadas, por aquele
arranjo dialtico institucional e organizacional.
Dentro desse horizonte de possibilidades, importante
ponderar que, para que seja possvel assegurar tais mediaes
estruturantes de um Sistema Orgnico do Trabalho, avaliamos
no ser factvel a criao de um novo marco jurdico institucio-
nal, pois seria como desenhar uma proposta sem um marco de
luta anterior, logo, pouco provvel que tenha alguma base social
de sustentao ou mesmo que fure as diferentes barreiras de um
Estado umbilicalmente vinculado lgica do capital.
Talvez fosse mais propcio recombinar alguns elementos,
j criados na luta concreta dos movimentos e demandas sociais,
aproveitando o arcabouo jurdico resultante de tais embates e
inovaes, porm sob uma lgica estruturante de outro tipo: in-
tegrada e ps-capital.
Na sequncia, apresentamos uma possvel proposta de novo
arranjo institucional, combinando possibilidades abertas com
uma perspectiva que contraponha a essncia do capital, ou seja,
que venha a anular suas mediaes de 2 grau.
fundao estruturante antipropriedade
Proudhon j tinha afirmado, em certa passagem das suas
reflexes, que precisamos usar a propriedade contra a proprie-
dade. Nessa perspectiva, em que pese o uso ostensivo, e com os
mais variados propsitos que uma fundao venha a ter, acredi-
tamos que essa figura organizacional fundao, cuja definio
jurdica reza que trata-se de um patrimnio vinculado a um
propsito ou finalidade, pode ser ressignificada e reconfigura-
da para anular uma das mediaes de 2 grau a propriedade
privada dos meios de produo.
80
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
Suas funes elementares seriam:
Base patrimonial de todo o sistema comunal (ou de todo
o Sistema Orgnico do Trabalho), abrangendo a totalidade do
estoque de riquezas (edificaes, mquinas e equipamentos e
outros meios de produo, base fundiria ou territorial, e assim
por diante).
Ao contrrio da acumulao privada, que se alimenta da
prpria destruio ou obsolescncia de mercadorias, para extrair
mais riqueza de outros agentes (na produo expropriando traba-
lhadores, na circulao ou intercmbio comercial expropriando
consumidores/trabalhadores ou outros agentes econmicos), aqui
temos uma outra lgica: a de estoque orgnico de riqueza social.
Logo, passa a ser desejvel (ou mesmo necessrio) todo o ganho
em termos de utilidade, qualidade, manuteno, pois no h ou-
tro meio de se conseguir riqueza, seno pela produo do prprio
conjunto, no havendo nenhum motivo para destruir um esto-
que, pois esta ao em nada acrescentaria em valores (como seria
normal na lgica do valor de troca); ao contrrio, empobrece-
ria todo o conjunto.
No se caracterizar em uma propriedade privada tpica,
mas sim num tipo de propriedade coletiva e indivisvel, que
chamamos de antipropriedade. Ao contrrio do fundo indivisvel
de uma cooperativa, ela no se caracteriza por uma simples ga-
rantia de preservao de uma organizao, frente possvel sada
de associados, mas um elemento estruturante de todo um sistema
de produo e circulao de riqueza social (e no apenas de flu-
xos de valor de troca subordinados aos imperativos de acumula-
o ilimitada, como o caso do movimento cooperativista).
O estatuto da Fundao Estruturante Antipropriedade
deve determinar, de forma constitutiva, que todo o fluxo finan-
ceiro doado (ou pertence) Caixa de Mediao Financeira,
criando e estruturando um elo ontolgico de sustentao para o
propsito de um sistema orgnico do trabalho.
81
di A. Benini
caixa de mediao financeira
A forma jurdica assumida pela Caixa de Mediao Finan-
ceira seria a de uma cooperativa de crdito. Sua funo primor-
dial diz respeito a organizar todos os fluxos econmicos/finan-
ceiros do Sistema Orgnico do Trabalho, sustentando uma lgica
de sinergia, distribuio da riqueza, tanto de forma coletiva: um
estoque de riqueza que traga benefcios para todos os integrantes
da comuna como tambm na perspectiva do indivduo, que pre-
cisa de alguma liberdade para escolher seus estilos e modos de
vida, por meio de uma renda prpria e no subordinada, que na
lgica de um sistema orgnico passa a ser qualificada e sustenta-
da como renda sistmica, anulando outra mediao de 2 grau
do capital.
A renda sistmica significa a exata integrao entre o con-
sumo individualizado e os fluxos de riqueza coletivos. A cada
item que o produtor associado, agora na condio de consumi-
dor associado individualizado, opta, ele tambm ter o entendi-
mento, junto com o fato concreto, que a sua escolha interfere di-
retamente na sua renda, uma vez que esta agora sistmica. Por
exemplo, ao se consumir uma laranja produzida na comuna,
como se ele tivesse tambm induzindo sua prpria renda futura,
pois mesmo que gaste 10 unidades de valor, isso pode se reverter
em outros 10, 15 ou mais (conforme o efeito multiplicativo) de
renda sistmica. Ao passo que, ao consumir uma mercadoria
tpica do capital, ainda que seja mais barata primeira vista,
em nada contribui para a sua melhoria material no longo prazo.
Com isso, no se trata apenas de uma escolha tica e moral, con-
forme reza os ideais de comrcio justo, mas a prpria essncia
deste novo tipo de circulao e retroalimentao de riqueza so-
cial, com impacto material direto e explcito.
Um dos meios para se efetivar essa integrao a instituio
de uma moeda social, com a funo de garantir a recirculao in-
82
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
terna das riquezas produzidas pela comuna, algo bastante prximo
a algumas experincias de Economia Solidria, que j perceberam
a necessidade e os benefcios de se controlar tambm a esfera da
circulao. Na lgica de um Sistema Orgnico do Trabalho, alm
de uma moeda social, temos tambm a funo de coordenao in-
tegradora dos fluxos de riqueza. Essa coordenao se expressaria
em diferentes situaes, nos vrios tipos de pagamentos, com-
pras, investimentos, e na consolidao da riqueza social inte-
grando o estoque patrimonial da Fundao da Comuna.
Naturalmente que, de incio, haver a necessidade de um
considervel intercmbio com o sistema de mercadorias. Tal ne-
cessidade precisa ser cuidadosamente planejada e pactuada, por
meio, talvez, de percentuais decrescentes de intercmbio no tem-
po, aumentando progressivamente a autonomia econmica e pro-
dutiva da comuna, e potencializando a sua riqueza, simultanea-
mente coletiva e individualizada.
por meio desta cooperativa de crdito que aqui adquire
a funo estruturante de Caixa de Mediao Financeira, que se
estabelece o vnculo formal dos trabalhadores com a Comuna,
agora na condio de produtores livremente associados, na mes-
ma perspectiva que defende Mszros.
eixos produtivos
Os eixos produtivos seriam unidades de produo orga-
nizadas em forma de cadeias produtivas horizontais e verticais.
Com isso, busca-se uma integrao logstica que potencialize o
trabalho e a qualidade da produo, bem como possibilite um
planejamento integrado (inclusive, em longo prazo, numa pers-
pectiva global) de todo o conjunto produtivo.
Essa integrao orgnica tem como propsito bsico supe-
rar a realidade fragmentada e desconexa das mltiplas coopera-
tivas de trabalho e de produo. Para isso, seria necessria tanto
83
di A. Benini
uma autogesto imediata, nos conselhos tcnicos, como tambm
espaos de autogesto coordenativos (indo de uma escala local,
regional, at um horizonte global), na forma, por exemplo, de
conselhos de produo integrados a cadeias produtivas, e ao con-
sumo, ou a todo o conjunto produtivo, conselhos de inovao
e investimento (uma ponte entre a produo e a Universidade
Libertria, na perspectiva de adequao sociotcnica), ou seja,
uma autogesto progressiva e ampliada para as vrias conexes
necessrias para a produo da riqueza social, sendo inclusive o
prprio formato tcnico (por exemplo, uma ergonomia adequa-
da) de realizar a produo, tambm elemento dessa riqueza.
Uma vez que no temos agora simplesmente trabalhadores
assalariados (e vendendo sua fora de trabalho), mas sim produ-
tores associados buscando os melhores meios de potencializar as
condies de vida na comuna esta busca, naturalmente, inclui-
r a qualidade do prprio processo produtivo. Logo, nesse tipo
de sistema, a opo externalizar custos do processo produtivo
no aceitvel, pois impacta diretamente no resultado, orgnico,
da Comuna, depreciando a riqueza social devido a novos passi-
vos e custos criados (doenas decorrentes do prprio trabalho,
degradao ambiental, produtos de m qualidade) de um proces-
so que trate o trabalho apenas como fator de produo, ou seja,
como uma mercadoria.
Dessa forma, no apenas por uma demanda moral ou tica,
mas tambm por um imperativo estrutural e econmico, os eixos
produtivos esto organicamente vinculados necessidade de se
priorizar valores de uso.
Outro ponto importante que os eixos produtivos no se
caracterizam por uma propriedade, ou seja, formalmente o es-
toque direto de riqueza (meios de produo) so propriedade
da Fundao Estruturante Antipropriedade, os fluxos de rique-
za so organizados pela Caixa de Mediao Financeira, e os
investimentos e inovaes tecnolgicos, ponderados e delibera-
84
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
dos no conselho das inovaes e do conhecimento, vinculado
Universidade Libertria (prximo item).
Com isso, tambm desaparece a figura de scios, funcionrios,
proprietrios etc. Todos so produtores que precisam, por meio de
convenes e estatutos tico-polticos (convergncia de interesses e
propostas), pactuar as mltiplas formas de autogesto do setor pro-
dutivo como efetivamente um todo, que pode se combinar de infinitas
formas, criando mltiplas cadeias produtivas e inovaes tcnicas.
universidade libertria
A instituio de uma Universidade Libertria seria outro
ponto fundamental de sustentao de um Sistema Orgnico do
Trabalho. Aqui o seu propsito no seria limitado linha tradi-
cional de ensino, pesquisa e extenso, ou lgica de produo e
reproduo do conhecimento.
Alm deste escopo atual das universidades pblicas (ensino,
pesquisa e extenso), de certa forma funcional manuteno do
estabelecido, no contexto do sistema orgnico do trabalho, seu
propsito seria enriquecido (ou mesmo transformado) com, pos-
sivelmente, as seguintes funes:
Adequao sociotcnica do setor produtivo e do consumo;
Poltica cientfica e tecnolgica vinculada Poltica de in-
vestimentos da COMUNA conselho das inovaes;
Formao contnua e crtica, com autonomia plena
(nova estrutura curricular que supere o isolamento dos
conhecimentos e subordinao do conhecimento a lgi-
ca de profisses);
Espao permanente de trocas, debates, etc.;
Observatrio da COMUNA (estudos, avaliaes, dis-
cusses);
Comunicao e Jornalismo independentes (rdio, TV,
outras mdias, com autonomia e liberdade de expresso).
85
di A. Benini
Dessa forma, haveria vrios espaos qualificados de tro-
cas e dilogos, tanto de discusso, ponderaes, anlises, como
tambm espaos deliberativos especialmente no setor de investi-
mentos e inovaes tcnicas e cientficas, talvez na forma de um
conselho das inovaes.
Entretanto, numa lgica orgnica de superao da diviso
hierrquica e social do trabalho, seria ainda fundamental cons-
truir elos entre esses espaos (intercalando autonomia com copar-
ticipao) entre a responsabilizao e a prudncia, com o prprio
espao decisrio determinante da poltica cientfica e tecnolgica
da Comuna.
conselhos
A ideia ou proposta de organizao poltica por meio de
conselhos no nova, estando presente desde lutas revolucion-
rias (como na Comuna de Paris), ou na forma de conselhos ope-
rrios, (como foi o caso dos sovietes da revoluo russa), at em
formas mais atuais, como os conselhos gestores, setoriais e con-
sultivos, inseridos em algumas polticas pblicas no Brasil.
No entanto, h uma grande diferena substantiva entre con-
selhos inseridos dentro de um aparelho de estado burocrtico e
conselhos enquanto instituies de governana autogestionria.
Dentro ou vinculados atual formao histrica estatal,
de carter heterogestionrio e burocrtico, mesmo nos conselhos
ditos mais participativos, igualitrios e at mesmo com funes
deliberativas, ainda assim, preciso considerar a ausncia de um
entorno social, poltico e cultural que propicie uma lgica de au-
togesto social.
Em primeiro lugar, preciso reconhecer que h a necessida-
de de se criar novas metodologias decisrias, de cunho autoges-
tionrio, uma vez que a nossa atual cultura organizacional est
fortemente impregnada pela lgica heterogestionria e burocr-
86
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
tica de controle e dominao, o que por si s implica, alm de
instrumentos, prticas e condutas sociais centradas na ideia de
um chefe, cuja ausncia significa, nessa concepo conserva-
dora, desordem, baguna, caos social.
Naturalmente uma organizao implica, necessariamente,
coordenao e articulao, buscando envolver e orientar suas
partes ou elementos constitutivos numa mesma direo e senti-
do, com isso criando sinergia e fora coletiva.
Mas coordenar no sinnimo de controlar ou de domi-
nar. Controle e dominao, no contexto das organizaes, diz
respeito a manter um tipo de ordem entre desiguais, logo, uma
ordem de subordinao. J a coordenao diz respeito a aglutinar
diferentes processos e etapas, de forma a potencializar o todo por
meio do melhor arranjo e organizao possvel das partes.
Nessa perspectiva de coordenao, haveria a necessidade de
se criar e instituir mltiplos espaos participatrios, ora de dis-
cusso e debates, ora deliberativos, ora por meio de convenes,
mecanismos de revogao, de rodzio, de controle democrtico,
enfim, de se desenvolver plenamente uma autntica governana
autogestionria anulando, dessa forma, outra crucial media-
o de segundo grau do capital.
consideraes finais: para uma integrao orgnica do
trabalho associado
Entendemos que a proposta e o movimento da chamada
Economia Solidria possuem ampla diversidade de experin-
cias e propostas ideolgicas, bem como tambm criam e recriam,
continuamente, vrias contradies.
No podemos negar a gama de problemas que tal contexto
implica: novas formas de dependncia e assistencialismo, dispu-
ta por projetos, recursos (logo, disputa por poder), manipulao
das pessoas em posio de vulnerabilidade social, consolidao
87
di A. Benini
da precarizao do trabalho, enfim, funcionalidades da lgica de
dominao do capital.
No entanto, deve-se levar em conta a gama de inovaes, dis-
cusses, experimentos e pessoas envolvidas no desafio de se superar
as relaes de trabalho subordinadas do capital, de negar a mercan-
tilizao de todos os aspectos da reproduo social, e de se ter como
opo e horizonte relaes de produo (e sociais) de cunho autoges-
tionrio uma nova e efetiva forma de trabalho associado.
Como, em ltima instncia, no possvel uma autogesto
plena ou efetiva dentro do modo de produo capitalista, tais
tentativas de autogesto e experincias de Economia Solid-
ria, de forma reativa, ou refletida, discutida e planejada, vm
buscando criar outros aspectos sistmicos, transbordando alm
das unidades de produo (na forma de cooperativas ou em-
presas solidrias), e, com isso, incluindo/inovando em aspectos
importantes da reproduo social.
Advogamos que tal movimento contraditrio de enfrenta-
mento, em que pese as reiteradas dificuldades ou dilemas, cria
novas possibilidades histricas e, ao observar atentamente esses
elementos, podemos identificar um espao crtico para um novo
horizonte de eventos.
Esse horizonte de eventos no diz respeito a nenhum tipo de
proposta salvacionista ou de um pacote de ideais emancipa-
trios, mas to somente a enxergar e compreender que, ao mes-
mo tempo em que o capital se estruturou num sistema orgnico,
o trabalho, enquanto classe e categoria social, igualmente pode
se situar no mesmo horizonte, logo, no mesmo carter ontolgi-
co de integrao orgnica, sendo que somente a sua alienao o
impede desta realizao da sua substncia ou essncia.
Dito de outra forma, o limite da Economia Solidria no
est centrado nas dificuldades de se praticar a autogesto no
capitalismo, mas sim, em no entender que autogesto implica
em superar as mediaes do capital, o que significa contrapor as
88
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
instituies de dominao capitalista, logo, implica constituir-se
uma organicidade, no fragmentada, dos elementos e mediao
prprios do trabalho enquanto ontologia latente.
Superar a fragmentao das inmeras formas de Econo-
mia Solidria significaria simultaneamente desmontar as me-
diaes alienadoras de segundo grau do capital. Compreender
essa relao dialtica crucial para percebermos que as opes
e oportunidades j esto dadas. Como nos ensina Motta, pre-
ciso apenas que a classe trabalhadora encontre os instrumentos
adequados para reverter o estabelecido e superar, plenamente, a
sua alienao.
referncias bibliogrficas
BENINI, E. A. Sustentabilidade e autogesto: um horizonte macro de
mudana a partir de experincias locais? In: GHIZONI, Lilian
D., e CANADO, Airton C. (orgs.). Desenvol vimento, Gesto
e questo social: uma abordagem interdisciplinar. Contagem
(MG): Dialtica Editora do Brasil ME, 2011.
; BENINI, E. G. As contradies do processo de autoges-
to no capitalismo: funcionalidade, resistncia e emancipao so-
cial pela Economia Solidria. Revista Organizaes e Sociedade.
Salvador, v. 17, n. 55, p. 605-619, out./dez. 2010.
; BENINI, E. G. A Reforma Agrria no contexto da Eco-
nomia Solidria. Revista NERA. Presidente Prudente, n. 13, p.
6-15 jul./dez 2008.
. Economia solidria, estado e sociedade civil: um novo
tipo de poltica pblica ou uma agenda de poltica pblicas? In:
DAL RI, N. M.; Vieitez, C. G. (orgs.). Revista Organizao e
Democracia. Marlia: Unesp, p. 3-23, 2003.
BENINI, E. G.; BENINI, E. A.; FIGUEIREDO NETO, L. F. Econo-
mia solidria nos prismas marxistas revoluo ou mitigao.
Artigo apresentado no V ENCONTRO INTERNACIONAL DE
ECONOMIA SOLIDRIA O discurso e a prtica da Econo-
mia Solidria. Universidade de So Paulo Ncleo de Estudos
sobre Economia Solidria. Anais do Evento: So Paulo, 2007.
Disponvel em: <http://www.poli.usp.br/p/augusto.neiva/nesol/
89
di A. Benini
Publicacoes/ V%20Encontro/Artigos/Principios/PRI-09.pdf>.
Acesso em: 12 nov. 2009.
BERNARDO, J. Para uma teoria do modo de produo comunista.
Porto: Edies Afrontamento, 1975.
DAGNINO, R.; NOVAES, H. As foras produtivas e a transio ao
socialismo: contrastando as concepes de Paul Singer e Istvn
Mszros. Incubadora Tecnolgica de Cooperativas Populares/
Unicamp, Campinas, set. 2005. Disponvel em <http://www.itcp.
unicamp.br >. Acesso em: 06 jun. 2007.
FERRAZ, D. L. S.; DIAS, P. Discutindo autogesto: um dilo-
go entre os pensamentos clssico e contemporneo e as in-
fluncias nas prticas autogestionrias da economia popu-
lar solidria. Revista Organizaes e Sociedade, Salvador,
v. 15, n. 46, p. 99-117, jul./set. 2008.
FRANA FILHO, G. C.; LAVILLE, J. Economia solidria: uma abor-
dagem internacional. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
GAIGER, L. A Economia Solidria diante do modo de produo ca-
pitalista. Caderno CRH, Salvador, vol. 16, n. 39, p. 181-211,
jul./dez. 2003. Disponvel em: <http://www.cadernocrh.ufba.br/
viewissue.php?id=12>. Acesso em: 10 de set. 2009.
LUXEMBURGO, R. Reforma ou revoluo? So Paulo: Editora Ex-
presso Popular, 2005.
MANCE, E. A. Redes de colaborao solidria. In: CATTANI, A. D.
(org.). A outra economia acontece. Porto Alegre: Veraz Editores,
2003, p. 219-225.
MARX, K. A questo judaica. So Paulo: Moraes, 1991.
. Manuscritos econmico-filosficos. So Paulo: Boitem-
po Editorial, 2004.
. O capital: crtica da economia poltica. Livro 1. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2006.
MSZROS, I. O sistema comunal e o princpio da autocrtica. Dispo-
nvel em: <http://odiario.info/?p=629>. Acesso em: 5 abr./ 2011.
. Para alm do capital. So Paulo: Boitempo Editorial ,
2002.
. A teoria da alienao em Marx. So Paulo: Boitempo
Editorial, 2006.
. O desafio e o fardo do tempo histrico. So Paulo:
Boitempo Editorial, 2007.
MOTTA, F. C. P. Burocracia e Autogesto: a Proposta de Proudhon.
So Paulo: Brasiliense, 1981.
90
Sistema Orgnico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho
associado a partir das prxis de Economia Solidria
. O que burocracia. So Paulo: Brasiliense, 1981a.
. Organizao e Poder. So Paulo: Atlas, 1986.
. & BRESSER-PEREIRA, L. C. Introduo Organiza-
o Burocrtica. So Paulo: Brasiliense, 1980.
NOVAES, H. T. O fetiche da tecnologia: a experincia das fbricas
recuperadas. So Paulo: Expresso Popular, 2010.
SINGER, P. Globalizao e desemprego: diagnstico e alternativas.
So Paulo: Contexto, 1998.
. Introduo Economia Solidria. So Paulo: Contexto,
2002.
. A Economia Solidria no Brasil: a autogesto como res-
posta ao desemprego. Contexto: So Paulo, 2003.
STORCH, S. Uma perspectiva estrutural sobre cooperativas industriais.
In: VENOSA, R (org.). Participao e participaes: ensaios so-
bre autogesto. Babel Cultural: So Paulo, 1987, p. 61-92.
TRAGTENBERG, M. Reflexes sobre o Socialismo. So Paulo,
2003.
91
a autogesto e o novo cooperativismo
1
Claudio Nascimento
A Secretaria Nacional de Economia Solidria (Senaes) sur-
giu como expresso, no campo da poltica de Estado, de um am-
plo movimento social assentado nas diversas formas de existn-
cia da Economia Solidria, que significa uma nova expresso do
movimento cooperativista frente nova etapa do capitalismo,
caraterizada pelo desemprego estrutural e pela precarizao do
trabalho, sob hegemonia da globalizao financeira.
A reinveno da Economia Solidria porta em si uma es-
pcie de ressurreio de valores que fazem parte da cultura do
movimento operrio: solidariedade, autogesto, autonomia,
mutualis mo, economia moral etc. Neste sentido, Economia So-
lidria e Autogesto, se no so sinnimos, so termos que ca-
minham juntos. Podemos mesmo afirmar que no h autogesto
sem Economia Solidria e que no pode haver Economia Solid-
ria sem autogesto.
Apesar da diversidade de conceitos, pode-se caracterizar
a Economia Solidria como: O conjunto de empreendimentos
1
Palestra apresentada no Seminrio Nacional de Autogesto. Jonville (SC),13
e 14 de dezembro de 2003.
92
A autogesto e o novo cooperativismo
produtivos de iniciativa coletiva, com um certo grau de democra-
cia interna e que remunera o trabalho de forma privilegiada em
relao ao capital, seja no campo ou na cidade
2
.
Por sua vez, a autogesto mais um ideal de democracia
econmica e gesto coletiva que caracterizam um novo modo de
produo. Contudo, este ideal se expressa em formas distintas
nos diversos momentos da histria, como possibilidades concre-
tas de os trabalhadores constiturem sua utopia de uma sociedade
igualitria e socialista. Isto significa uma radicalizao da Eco-
nomia Solidria, no sentido de os trabalhadores se reapropriarem
daquilo que o capital lhes expropriou ao longo da histria. Nesta
perspectiva, autogesto e socialismo andam sempre de mos dadas
no processo de libertao dos trabalhadores. Todavia, a expresso
socialismo autogestionrio, historicamente, uma ideia relativa-
mente nova, provinda da experincia iugoslava iniciada em 1950.
Entretanto, j no final do sculo XIX, por exemplo, Karl
Marx defendia a Associao dos produtores livres e iguais,
declarava-se favorvel s cooperativas de produo, organizadas
em escala nacional. E, no menos fundamental, proclamou a co-
nhecida frase que viria a se tornar o lema da autogesto: A liber-
tao dos trabalhadores ser obra dos prprios trabalhadores.
Portanto, pretender uma definio acabada do socialismo
autogestionrio seria negar o dinamismo da histria e das lu-
tas dos trabalhadores. Mas isto no impede que, em diversas
conjunturas da histria, sobretudo em seus momentos crticos,
o movimento operrio construa formulaes. Neste sentido, o
movimento prtico uma forma de teoria; por exemplo, na lon-
ga conjuntura dos anos de 1960 e 1970, marcada por lutas ope-
rrias pelo controle do processo de produo, uma Conferncia
Nacional pelo Socialismo Autogestionrio, realizada em Lisboa
2
MTE. Ministrio do Trabalho e Emprego. Termo de referncia da Econo-
mia Solidria. Plano Nacional de Qualificao, 2003.
93
Claudio Nascimento
e maio de 1978, ainda como fruto das experincias das comis-
ses de trabalhadores surgidas durante a Revoluo dos Cravos
(1974), assim foi definida a autogesto:
A autogesto a construo permanente de um modelo de socia-
lismo, em que as diversas alavancas do poder, os centros de de-
ciso, de gesto e controle, e os mecanismos produtivos sociais,
polticos e ideolgicos, se encontram nas mos dos produtores-ci-
dados, organizados livres e democraticamente, em formas asso-
ciativas criadas pelos prprios produtores-cidados, com base no
princpio de que toda a organizao deve ser estruturada da base
para a cpula e da periferia para o centro, nas quais se implante
a vivncia da democracia direta, a livre eleio e revogao, em
qualquer momento das decises, dos cargos e dos acordos. (Con-
ferncia, 1978).
Paul Singer, num seminrio sobre a economia socialista
(2000), fez referncia disputa ocorrida na revoluo sovitica
entre os partidrios da planificao centralizada pelo Estado
e os defensores da autogesto. Com a derrota desta ltima al-
ternativa, abriu-se o caminho para as experincias do chamado
socialismo real, caracterizadas pelo planejamento geral e pela
concentrao do poder. A outra via, a do socialismo como au-
togesto, se expressava atravs da ruptura com a ditadura do
capital nas empresas e sua substituio pela gesto coletiva dos
meios de produo exercida pelos produtores livremente asso-
ciados. Essas ideias inspiraram os defensores das cooperativas
de produo autogestionrias, das quais Rochdale, fundada em
1844, foi a pioneira.
A corrente autogestionria socialista tem uma experincia
histrica que a da prpria histria das lutas dos trabalhadores.
E. P. Thompson, em sua Formao da classe operria inglesa,
informa que, Em fevereiro de 1819, os operrios ingleses do
tabaco, aps onze meses de greve, comearam a organizar a pro-
duo por sua prpria conta.
94
A autogesto e o novo cooperativismo
Paul Singer, recorrendo, tambm, histria da classe ope-
rria inglesa, apoiado em G. D. H. Cole, assinala o carter revo-
lucionrio do cooperativismo em suas origens:
Mas greves e lock-outs logo se multiplicaram em outras partes do
pas, e os recursos da Unio estavam longe de poder manter os ex-
cludos. A deteno e condenao dos trabalhadores de Dorchester,
em maro de 1834, foi mais um golpe, pois ameaava os sindicatos
em todos os lugares com penalidades legais, somadas hostilidade
dos empregadores. A Grande Unio Nacional Moral das Classes
Produtoras e a maioria dos seus afiliados aboliram os juramentos,
que eram comumente parte das cerimnias de iniciao sindical, e
haviam fornecido a base para as condenaes de Dorchester.
Mas, em face da crescente militncia dos empregadores e
da declarada hostilidade do governo, os sindicalistas em muitas
reas comearam a perder o nimo. Owen e seus discpulos pu-
seram-se frente da demanda pela libertao dos trabalhadores
de Dorchester e entraram na Grande Unio Nacional Moral das
Classes Produtoras em bloco, na esperana de salvar a situao.
Mas uma greve sem sucesso dos alfaiates de Londres que cobri-
ram a cidade de cartazes anunciando que estavam partindo em
bloco para a produo cooperativa piorou seriamente a situa-
o; e os empregadores de Yorkshire, retomando a ofensiva do
ano anterior, conseguiram em maio e junho quebrar o poder do
sindicato de Leeds.
O Sindicato dos Trabalhadores em Construo tambm estava
ruindo em face de repetidos ataques (...). E, uma aps a outra, as
associaes de ofcio foram deixando o sindicato, que no fim de
1834 se extinguiu. As oficinas corporativas em Derby tiveram de
fechar, e os homens foram forados a voltar ao trabalho nas con-
dies impostas pelos empregadores. O Sindicato dos Oleiros,
que montou uma olaria cooperativa em junho de 1834, teve de
abandon-la seis meses depois. A grande aventura sindical estava
chegando a um fim sem glria (Singer, 1998).
95
Claudio Nascimento
Paul Singer arremata:
Esta a origem da Economia Solidria. Seria justo chamar esta
fase inicial de sua histria de cooperativismo revolucionrio, o
qual jamais se repetiu de forma to ntida. Ela tornou evidente a
ligao essencial da Economia Solidria com a crtica operria e
socialista do capitalismo.
Apesar de inmeras derrotas, permaneceu viva a ideia de
que trabalhadores associados poderiam organizar-se em empre-
sas autenticamente autogestionrias e desafiar assim a prevaln-
cia das relaes capitalistas de produo (Singer).
Na longa histria da classe operria, podemos traar cinco
ondas de longa durao que apontam para a perspectiva do so-
cialismo autogestionrio:
1) O movimento dos visionrios, como Robert Owen e
a gesto operria; Fourier e os falanstrios; Louis Blanc
e as oficinas nacionais; Lassale e as oficinas autogestio-
nrias; Proudhon e o mutualismo; Williams Morris e
os pequenos grupos espontneos; Theodor Hertzka e as
comunas autogestionrias;
2) Grupos e movimentos sociais, como o marxismo, o anar-
quismo, o sindicalismo, o socialismo e o cooperativismo;
3) Revolues ou experincias prticas de autogesto: A
Comuna de Paris (1871); a Revoluo Russa (1905); a
Revoluo Socialista de Outubro de 1917; a Revoluo
Hngara de 1919; a Revoluo Alem de 1919; a Revo-
luo Italiana de 1919; a Revoluo Espanhola de 1936-
1939; a Revoluo Argelina de 1962; as revolues no
Leste europeu: na Hungria em 1956, na Polnia em
1956; a Revoluo Theca da Primavera de Praga em
1968, o movimento social Solidarnosc na Polnia, em
1980-1981; diversas experincias de prticas autogestio-
96
A autogesto e o novo cooperativismo
nrias na Europa nos anos de 1960 e 1970, sobretudo
na Frana (LIP), na Itlia, em Portugal;
4) Novos sistemas de autogesto, como experincias de or-
ganizao na produo (cogesto, consultas coletivas,
delegados sindicais etc.) e a autogesto como sistema na
Iugoslvia a partir de 1950;
5) Uma onda mais recente, caracterizada pela existncia em
diversos pases do movimento da Economia Soli dria.
a reinveno da economia solidria e o
novo cooperativismo
A partir da segunda metade da dcada de 1970, o desem-
prego estrutural em massa voltou a ser uma constante na vida
dos trabalhadores. Nas dcadas seguintes, ocorreu a desindus-
trializao dos pases centrais e mesmo de pases semi-industria-
lizados (como o Brasil), eliminando milhes de postos de traba-
lho formal. Ter um emprego passou a ser um privilgio de uma
minoria. Os sindicatos perderam sua capacidade de lutar pelos
direitos dos trabalhadores.
Neste contexto, a Economia Solidria ressurgiu com fora
em muitos pases. Na verdade, ela foi reinventada. O que dis-
tingue este novo cooperativismo a volta aos princpios, o
grande valor atribudo democracia e igualdade dentro dos
empreendimentos, a insistncia na autogesto e o repdio ao
assa lariamento.
A estratgia da Economia Solidria autogestionria se funda-
menta na tese de que as contradies do capitalismo criam opor-
tunidades de desenvolvimento de organizaes econmicas cuja
lgica oposta do modo de produo capitalista. Todavia, a rein-
veno e o avano da Economia Solidria no dependem apenas
dos prprios desempregados e no prescindem do apoio do Estado
e do fundo pblico, mas tambm de vrias agncias de fomento.
97
Claudio Nascimento
Cumpre afirmar que, para uma ampla faixa da populao , cons-
truir uma Economia Solidria depende primordialmente dela pr-
pria, de sua disposio de aprender e experimentar, de sua adeso
aos princpios da solidariedade, da igualdade e da democracia e
tambm da disposio de seguir estes princpios na vida cotidiana.
o socialismo com autogesto
Devemos abordar autogesto sob dois ngulos, articulados
e interdependentes: por um lado, como contedo do socialismo,
regime que sucede ao capitalismo, atravs da revoluo social,
e deste modo, modo de organizao da sociedade; por outro,
como linha de ao e mobilizao dos trabalhadores e cidados
no cotidiano, em busca da construo desta sociedade, uma
estratgia poltica.
Nessa perspectiva de longa durao, a autogesto retoma a
ideia de Rosa Luxemburgo da experimentao social, da arti-
culao da ideia autogestionria com as experincias concretas:
agindo coletivamente que as massas aprendem a se autogerir;
no h outro meio de apropriao crtica da cincia.
Assim, a sociedade autogestionria uma sociedade de
expe rimentao social, que se institui e se constri por si mesma.
A autogesto um mtodo e uma perspectiva de transformao
social. um movimento, produto da experincia de vitrias e de
derrotas; um amplo processo de experincias em todo o conjun-
to da vida social.
O direito experimentao o fundamento da autogesto.
Ele deve ser a primeira tarefa de um governo que defenda a pers-
pectiva da autogesto. Mas o direito experimentao coletiva
de novas formas de vida e de trabalho no pode se construir de
cima, a partir de iniciativas do Estado. A Economia Solidria e
a autogesto se constroem a partir das iniciativas da sociedade
civil, nas empresas, nos bairros, nas municipalidades.
98
A autogesto e o novo cooperativismo
Consoante com esta perspectiva, Paul Singer afirma que os
praticantes da Economia Solidria foram abrindo caminhos, pelo
nico mtodo disponvel no laboratrio da histria: o de tentati-
vas e erros. Em sua obra Uma utopia militante repensando o
socialismo, j afirmava as possibilidades da proposta socialista:
Como estamos longe de ter no mundo formaes sociais em que
o modo de produo socialista seja hegemnico, a implantao
de cooperativas e outras instituies de cunho socialista um
processo que poder ou no desembocar numa revoluo socia-
lista. Trata-se, portanto, de uma revoluo social em potencial,
cuja culminao ou vitria uma possibilidade futura.
A proposta autogestionria advoga que a ao socialista te-
nha em seu horizonte o princpio da autogesto mxima na
vida social e comunitria. Neste sentido, alguns eixos so funda-
mentais para a redefinio da democracia socialista: um governo
de esquerda no poder; e um movimento de Economia Solidria
autogestionria.
A sociedade contempornea, em toda sua complexidade,
exige como alternativa um socialismo baseado em um novo tipo
de instituies comunais, cooperativas e coletivas, com a plena
prtica democrtica do debate livre, assembleias e candidatu-
ras livres e decises democrticas. O princpio do mximo de
autoges to tem por desafio principal a criao de formas diretas
de poder popular em vrios nveis: no campo industrial e profis-
sional, ao desenvolver formas de democracia interna nos locais
de trabalho; associadas a novas formas de democracia na econo-
mia, na educao, na poltica e na cultura.
o socialismo autogestionrio
As experincias histricas levam rejeio de trs alterna-
tivas sociais:
99
Claudio Nascimento
1) a democracia liberal;
2 o capitalismo de Estado;
3 o socialismo de Estado.
Por outro lado, a alternativa socialista que tem por base a
Economia Solidria e a autogesto apresenta trs instncias fun-
damentais:
1) a socializao dos meios de produo, implicando a
abolio da propriedade privada dos recursos produti-
vos e sua substituio pela propriedade social; ou seja, a
autogesto social;
2) a socializao do poder poltico, a participao dos ci-
dados livres e iguais na formao coletiva de uma von-
tade poltica e no exerccio direto da autoridade, ou seja,
a democracia direta;
3) enfim, a transformao do mundo das relaes inter-
subjetivas, no sentido da afirmao da solidariedade; ou
seja, a revoluo cultural do cotidiano.
referncias bibliogrficas
Conferncia Nacional pelo Socialismo Autogestionrio. Lisboa, maio
de 1978.
LUXEMBURGO, R. O que quer a Liga Spartacus? (1918). Disponvel
em: www.marxists.org
MTE. Ministrio do Trabalho e Emprego. Termo de referncia da Eco-
nomia Solidria. Plano Nacional de Qualificao, 2003.
SINGER, P. I. Uma utopia militante: repensando o socialismo. Rio de
Janeiro: Vozes, 1998.
THOMPSON, E. P. A formao da classe operria inglesa. 3 v. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1988.
101
autogesto e tecnologia social:
utopia e engajamento
Las S. Fraga
Seres programados para aprender e que necessitam do amanh
como o peixe da gua, mulheres e homens se tornam seres rou-
bados se lhes nega a condio de partcipes da produo do ama-
nh. Todo amanh, porm, sobre o que se pensa e para cuja reali-
zao se luta implica necessariamente o sonho e a utopia. No h
amanh sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperana, sem
o trabalho da criao e desenvolvimento de possibilidades que
viabilizem a sua concretizao (Freire, 2001, p. 85).
Abordaremos neste texto a relao entre tecnologia social
e a Economia Solidria. Essa relao, embora colocada em al-
guns momentos por ambos os campos, tem sido deixada de lado
at ento. Este texto tem o intuito de aproximar as temticas e,
por um lado, trazer a utopia para o campo da tecnologia social
e para os cientistas exatos e, por outro, apontar a necessidade
de incorporar a varivel tecnolgica nos projetos de longo prazo
dos cientistas humanos. Mais do que colocar questes para as
cincias exatas ou humanas, o texto tenta evidenciar a necessida-
de de uma atuao multidisciplinar de professores, pesquisado-
res, extensionistas, gestores e apoiadores de grupos populares e
movimentos sociais.
Na tentativa de aproximar os dois campos de ao e re-
flexo, o texto est estruturado em quatro partes. Na primeira
delas, ser abordado o tema da Economia Solidria e da autoges-
to como seu fundamento. Na segunda, o debate sobre a tecno-
logia social e a necessidade de um engajamento tecnolgico. Na
102
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
terceira parte ser abordada a necessria relao entre Economia
Solidria e tecnologia social. Por fim, na quarta e ltima parte,
discutiremos alguns dos desafios para a concretizao da relao
entre os temas.
economia solidria: a autogesto como fundamento
Passados mais de dez anos de teoria e prtica, muito tem
se escrito sobre a Economia Solidria. H interessantes revises
conceituais sobre o tema (Cruz, 2006), alm dos j clssicos
autores (Singer, 2002a; Laville; Frana Filho, 2004; Coraggio,
2007, entre outros). Mas h tambm uma percepo de que a
Economia Solidria, seguindo o exemplo de termos como de-
senvolvimento sustentvel
1
ou educao popular
2
, tornou-se um
grande guarda-chuva que acolhe ideias e, principalmente, prti-
cas muito distintas.
Para aproximar o tema da tecnologia social com o da Eco-
nomia Solidria, preciso entender melhor o que h sob esse
guarda-chuva. Num recente artigo (Wirth, Fraga e Novaes ,
2011, p. 194), por meio de uma reviso bibliogrfica, pos-
svel compreender a heterogeneidade terica do campo. Numa
tentativa de categorizar as diferenas, so apresentadas algu-
mas correntes da Economia Solidria. Nesse artigo, so apre-
sentadas trs perspectivas que nos auxiliam na compreenso
do que a Economia Solidria no Brasil hoje. Numa primeira
corrente, os seus principais autores apontam para uma comple-
mentaridade entre capitalismo e Economia Solidria. Na se-
gunda, a Economia Solidria vista como uma possibilidade
de superao gradual do capitalismo. Numa terceira perspecti-
va, a Economia Solidria estaria inscrita na luta histrica dos
1
Ver Theis e Meneghel (2006).
2
Ver Efrem Filho (2008).
103
Las S. Fraga
trabalhadores na qual a autogesto
3
se apresenta como meio e
fim dessa luta.
Este artigo se inscreve na terceira perspectiva que pode ser
sintetizada de acordo com a citao a seguir:
Para os autores filiados perspectiva da autogesto, parcelas da
Economia Solidria realizam a autogesto possvel e tm poten-
cial para contribuir com a autogesto necessria, num contexto
de unificao das lutas dos trabalhadores rumo a uma sociedade
para alm do capital. Nesse sentido, se opem concepo de
Singer (2002a), que concebe a superao gradual do modo de
produo capitalista por meio da Economia Solidria e rejeitam
a hiptese de Laville e Frana-Filho (2004), sobre a perspectiva
de complementaridade entre capitalismo e Economia Solidria.
Segundo essa compreenso de autogesto, as organizaes de tra-
balho associado esto em constante tenso com a lgica do capi-
tal dominante. O desafio estaria ento na superao do trabalho
alienado e todos os seus corolrios (Wirth, Fraga e Novaes, 2011,
p. 205).
Nesse sentido, a Economia Solidria se apresenta como um
espao de reflexo, de luta, de construo de possibilidades no
qual a prtica da autogesto traz a viabilidade prtica das uto-
pias. Compreender o que a Economia Solidria hoje (em nme-
ros, suas formas associativas, ramos produtivos, construo de
subjetividades etc.) muito importante para o exerccio de proje-
tar cenrios possveis.
No entanto, pensar o futuro no futurologismo, pensar
como queremos que o mundo seja, pensar como construir o fu-
turo da maneira que desejamos. Essas tcnicas (de construo de
cenrios) tm sido usadas para pensar modelos globais (clube de
3
Sobre o termo autogesto consultar Guillerm e Bourdet (1976). Sobre a
aproximao entre Economia Solidria e autogesto, consultar Nascimento
(2008), Faria (2005) e Novaes (2011).
104
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
Roma, modelo Bariloche e outros) e foi importante at meados dos
anos de 1980. A partir dessa poca, com a avalanche neoliberal o
planejamento deixado de lado, tendo como fundamento a ideia
de que o mercado seria capaz de resolver os problemas da socieda-
de. Essa ideia seguiu dominante por algumas dcadas, mas a re-
sistncia e a negao ao neoliberalismo esto colocadas h algum
tempo
4
. Ainda assim, parece que no planejamos a longo prazo.
Um dos cenrios trazidos pela Economia Solidria a al-
ternativa de incluir os excludos. Diante da constatao que
mais de 50% da populao trabalha na informalidade, alguns
autores defendem a possibilidade de incluir a massa de informais
na economia formal (Dedecca; Baltar, 1997). Esse caminho no
nos parece possvel, muito menos desejado.
Por isso, o ponto de partida deste artigo o entendimento
da Economia Solidria, ademais da luta diria dos trabalhadores
e trabalhadoras pela sobrevivncia e de resistncia a tudo que
lhes imposto, como uma possibilidade de superao do capi-
talismo, isto , como um horizonte de longo prazo, qui, um
projeto de sociedade.
Esse projeto, no entanto, no apenas uma utopia abstrata
e distante. O que a Economia Solidria traz a tona a autogesto
como utopia concreta. Como expe Bernardo (2005),
(...) sem a autogesto das lutas a autogesto da sociedade jamais
ser possvel. Todavia, no se trata de projectar uma utopia num
futuro longnquo. Pelo contrrio, trata-se de afirmar uma pre-
sena imediata, porque qualquer experincia de autogesto cons-
titui, por si s, uma ruptura com as regras do jogo do Estado ca-
pitalista. Ao mesmo tempo em que a condio para generalizar
a autogesto, o facto de gerir a prpria luta a demonstrao da
viabilidade prtica das relaes sociais anticapitalistas, igualit-
rias e colectivistas (Bernardo, 2005, p. 3).
4
Sobre a resistncia ao neoliberalismo na Amrica Latina, ver Quijano (2002).
105
Las S. Fraga
O cenrio desejado nos parece ser a construo de uma so-
ciedade organizada por produtores livremente associados, como
apontava Marx. No entanto, a autogesto traz a necessidade da
construo de cenrios a partir de outros pilares, sem deixar de
lado o planejamento necessrio. Nas palavras de Mszros:
Os que desprezam a prpria ideia de planejamento, em virtu-
de da imploso sovitica, esto muito enganados, pois a susten-
tabilidade de uma ordem global de reproduo sociometablica
inconcebvel sem um sistema adequado de planejamento, ad-
ministrado sobre a base de uma democracia substantiva pelos
produtores livremente associados (Mszros, 2004, p. 45 apud
Novaes , 2011).
Em sntese, a breve aproximao com o tema da Economia
Solidria aqui colocada no tem o intuito de esgotar o debate
sobre suas possibilidades
5
, mas sim apontar que o que ela pode
ter de transformador a capacidade de projetar o futuro sem nos
perdermos nas empoeiradas doutrinas de esquerda. Nesse senti-
do, a Economia Solidria, por meio de seu principal fundamento,
a autogesto, torna possvel a inscrio de um projeto de socie-
dade na prtica cotidiana nas diversas esferas da produo e da
reproduo da vida. Retomaremos essa ideia no decorrer deste
artigo.
tecnologia social e o engajamento tecnolgico
Esta seo do texto tem como objetivo aprofundar o enten-
dimento sobre tecnologia social por meio de dois caminhos. No
primeiro deles, ser apresentado o debate terico sobre o tema,
enquanto, no segundo, ser abordada a perspectiva dos grupos
populares e suas necessidades tecnolgicas.
5
Pois seria necessrio aprofundar debates como os feito por Luxemburgo (1970).
106
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
O debate conceitual sobre tecnologia social um tema re-
cente para a academia. A ideia de alternativa tecnolgica, no en-
tanto, bem mais antiga. J com Gandhi, na dcada de 1920
havia um debate entre a tecnologia tradicional e a tecnologia mo-
derna (Lassance Jr. et al., 2004). A figura 1 mostra a bandeira
da ndia usada durante o movimento pela independncia do pas.
Nela, est presente uma roca de fiar, smbolo de resistncia con-
tra a dominao inglesa.
Figura 1 Bandeira da ndia com o smbolo da roca de fiar. Fonte: Wikipdia.
Na dcada de 1970, esse movimento ganha grandes propor-
es com pesquisas, debates e projetos de interveno da tecnolo-
gia apropriada
6
. Basicamente, a tecnologia apropriada consistia
na ideia de os pases de capitalismo central (ou pases de 1 mun-
do, na poca) desenvolverem tecnologias apropriadas ao contex-
to dos pases de capitalismo perifrico (ou pases de 3 mundo),
tentando resolver problemas bsicos da populao mais pobre
por meio de tecnologias simples, baratas e acessveis. Nessa
poca, muitos bancos de tecnologias apropriadas foram criados
6
Sobre a temtica de Tecnologia Apropriada, sua histria e conceituao, ver
Cruvinel (2001). Ver tambm o livro clssico de Schumacher (1983) sobre o
tema.
107
Las S. Fraga
dentro de um modelo ofertista linear de inovao
7
(de maneira
muito resumida, mais cincia geraria mais tecnologia que geraria
necessariamente efeitos positivos para a sociedade). Ainda hoje,
quando falamos de tecnologia social, a ideia por trs do conceito
de TA aparece.
Paralelamente a esse caminho, surgem os Estudos Sociais
da Cincia e da Tecnologia
8
, campo multidisciplinar que busca
abrir a caixa preta da cincia e da tecnologia. O surgimento
desse campo coincide com os questionamentos da sociedade em
relao cincia e tecnologia no contexto do ps-guerra. O
conhecido projeto Manhattan (que gerou a bomba atmica) e os
desastres naturais relacionados ao desenvolvimento tecnocient-
fico, entre outros eventos, trouxeram tona a pergunta: a cincia
e a tecnologia geram apenas efeitos positivos? Para responder a
essas questes, diferentes pensadores em diferentes localidades
se debruaram sobre o tema. Nos EUA, os estudos tinham como
foco as consequncias da cincia e da tecnologia, enquanto, na
Europa, a preocupao era com seus determinantes. Na Amrica
Latina, pensadores como Amilcar Herrera, Oscar Varsavsky e
Jorge Sbato, entre outros, se debruaram sobre a relao entre
poltica e cincia e tecnologia, discutindo modelos de desenvol-
vimento e propondo caminhos para superao das desigualdades
to caractersticas da realidade latino-americana.
dessa diversidade que surge a tecnologia social, pois para
sua compreenso e, principalmente, para sua concretizao,
preciso um olhar multidisciplinar (da educao, da economia, da
sociologia, da engenharia etc.) que seja capaz de perceber o ac-
mulo prtico e terico sobre o tema
9
. Desse acmulo, trataremos
7
Ver mais em Dias (2005).
8
Contribuies importantes sobre o tema, especialmente sobre a sociologia
da tecnologia podem ser encontradas em Thomas e Buch (2008).
9
Os artigos Sobre o marco analtico-conceitual da Tecnologia Social e
Construo do marco analtico-conceitual da Tecnologia Social em Dag-
108
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
brevemente de duas dimenses, para ento chegarmos ao concei-
to de tecnologia social.
A primeira delas a suposta neutralidade da tecnologia. Di-
zer que a cincia e a tecnologia no so neutras, no uma afir-
mao trivial. Dagnino (2008) aprofunda essa questo no trecho
a seguir:
A ideia da neutralidade parte de um juzo fundacional difuso,
ao mesmo tempo descritivo e normativo, mas abarcante e po-
tente, de que a C&T no se relaciona com o contexto no qual
gerada. Mais do que isto, que permanecer dele sempre isolada
um objetivo e uma regra da boa cincia. E, finalmente, que ela
pode de fato ser isolada. Ao entender o ambiente de produo
cientfico-tecnolgica como separado do contexto social, polti-
co e econmico, esta ideia torna impossvel a percepo de que
os interesses dos atores sociais de alguma forma envolvidos com
o desenvolvimento da C&T possam determinar a sua trajetria
(Dagnino, 2008).
A neutralidade tecnocientfica acarreta a percepo da tec-
nocincia como uma verdade que no passvel de questiona-
mento, uma verdade nica e intrinsecamente positiva para a hu-
manidade
10
. Tambm pela mesma lgica, a tecnologia pode ser
vista de maneira descontextualizada e, portanto, universal.
A outra dimenso o determinismo tecnolgico. Esse um
debate bastante complexo
11
, mas de maneira resumida, pode-
mos dizer que os seus partidrios entendem o desenvolvimento
tecnolgico como um caminho linear inexorvel e a tecnologia
como tendo uma lgica autnoma regida pela eficcia e pela efi-
cincia (Feenberg, 2010). Segundo essa lgica, a ltima tecnolo-
nino (2010) explicitam as diferentes contribuies e o percurso histrico
percorrido para chegar tecnologia social.
10
Sobre a temtica da neutralidade, ver mais em Dagnino (2008) e Pestre
(1996).
11
Ver Dagnino (2008).
109
Las S. Fraga
gia desenvolvida seria sempre melhor que a tecnologia anterior.
Mais do que isso, essa viso entende que o desenvolvimento da
sociedade determinado pelo desenvolvimento tecnolgico .
A negao dessas duas vises sobre a tecnologia, da qual
parte este artigo, entende a cincia e a tecnologia como constru-
es sociais que incorporam os valores e interesses do contexto
no qual so desenvolvidas. A partir desses pressupostos, Dagnino
(2010) prope uma definio para tecnologia social:
Ela [a tecnologia social] seria o resultado da ao de um coletivo
de produtores sobre um processo de trabalho que, em funo de
um contexto socioeconmico (que engendra a propriedade cole-
tiva dos meios de produo) e de um acordo social (que legitima
o associativismo), os quais ensejam, no ambiente produtivo, um
controle (autogestionrio) e uma cooperao (de um tipo volun-
trio e participativo), que permite uma modificao no produto
gerado passvel de ser apropriada segundo a deciso do coletivo.
(Dagnino, 2010, p. 210).
Escolhemos destacar esse conceito, pelo fato de o autor evi-
denciar o ator, nesse caso um coletivo de produtores, que executa
uma ao, uma modificao no processo de trabalho e que se
apropria do excedente gerado. Fica evidente tambm, no ape-
nas pelo conceito, mas pelo texto como um todo, que o autor
entende a tecnologia como uma estratgia rumo a um estilo al-
ternativo de desenvolvimento. Embora existam outros conceitos
de tecnologia social, tradicionalmente o ator est fora da concei-
tuao, o que refora a ideia de neutralidade e a sua consequente
descontextualizao.
Para alm do debate terico, pode-se chamar de tecnolo-
gia social as solues que tm surgido a partir das necessida-
des tecnolgicas de grupos populares. Nesse sentido, no se trata
de desvalorizar o debate terico, mas sim de tentar conect-lo a
uma linha de prticas de resistncia tecnolgica, como a j citada
expe rincia da ndia.
110
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
Feenberg (2010) aborda essa questo quando diz que
As pessoas afetadas pelas mudanas tecnolgicas, s vezes, pro-
testam ou inovam de maneira a lhes permitirem maior participa-
o e controle democrtico no futuro. Onde era possvel silenciar
toda oposio a projetos tcnicos, apelando para o progresso,
hoje as comunidades se mobilizam para fazer seus desejos conhe-
cidos (Feenberg, 2010, p. 64)
Nesse sentido, a resistncia tecnolgica pode ser percebida
na luta da agricultura familiar na perspectiva de escolherem a
maneira como querem plantar, colher e processar os alimentos,
colocando a agroecologia como alternativa revoluo verde
12
.
Pode tambm ser vista na luta de indgenas, quilombolas e ribei-
rinhos protegendo seus territrios de grandes obras como usinas
hidreltricas. Pode ser vista na luta por moradia aliada parti-
cipao na concepo do projeto arquitetnico e na construo
em mutires autogeridos
13
. Pode ser vista na luta dos catadores
e cooperativas de triagem de materiais reciclveis de organizar
o trabalho a partir da autogesto, modificando as tecnologias
existentes.
Os exemplos so muitos, e abordar o tema da tecnologia so-
cial ignorando-os parece um erro que no deve ser cometido. Isso
porque, se a tecnologia social parte da superao da tecnologia
apropriada, isto , no entende como adequado que universida-
des, institutos pblicos de pesquisa ou organizaes da sociedade
civil devam escolher o problema a ser enfrentado e construir so-
lues tecnolgicas de maneira isolada dos usurios-produtores,
essas formas de resistncias podem ser o ponto de partida para o
desenvolvimento de tecnologia social.
12
Ver a Plataforma da Via Campesina para a Agricultura em: http://www.
mst.org.br/Via-Campesina-apresenta-plataforma-para-agricultura.
13
Ver o trabalho do coletivo Usina em: http://www.usinactah.org.br/
111
Las S. Fraga
Se h grupos na sociedade reivindicando o direito de parti-
cipar na concepo e design de tecnologias que influenciam dire-
tamente as suas vidas, so eles que, em contato com a academia
e com financiamento pblico para o desenvolvimento cientfico-
tecnolgico especfico para essas aes, podero dar fora para a
ideia de engajamento tecnolgico. Nesse sentido, Feenberg (2010)
prope uma teoria crtica da tecnologia que abre a possibilidade
de pensar em tais escolhas [tecnolgicas] e de submet-las a con-
troles mais democrticos (Feenberg, 2010, p. 63).
Assim, para alm do debate terico e da descrio das ex-
perincias existentes, a tecnologia social retoma a ideia de uma
democracia para alm da democracia poltica representativa. Por
isso, podemos dizer que tecnologia social hoje se refere a uma
resistncia tecnolgica e um engajamento para construo de so-
lues tcnicas adequadas (segundo seus prprios critrios) para
grupos populares.
Por fim, Feenberg diz que
A tecnologia uma das maiores fontes de poder nas socieda-
des modernas. Quando as decises que afetam nosso dia-a-dia
so discutidas, a democracia poltica inteiramente obscure-
cida pelo enorme poder exercido pelos senhores dos sistemas
tcnicos (...). Eles possuem muito mais controle sobre os pa-
dres de crescimento urbano, o desenho das habitaes, dos
sistemas de transporte, a seleo das inovaes, sobre nossa ex-
perincia como empregados, pacientes e consumidores do que o
conjunto de todas as instituies governamentais da sociedade
(Feenberg , 2010, p. 69).
Nesse ponto, os dois caminhos que foram traados neste ar-
tigo (terico e do ponto de vista das necessidades tecnolgicas de
grupos populares) se encontram. Ambas as perspectivas apontam
a necessidade de um engajamento tecnolgico. Trata-se, portan-
to, de reconhecer a importncia da varivel tecnolgica nas lutas
anticapitalistas.
112
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
a necessria relao entre ts e economia solidria
Com a apresentao sobre os dois temas, a pergunta que
este artigo busca responder : qual a relao entre tecnologia so-
cial e Economia Solidria? A resposta para essa pergunta coloca
uma relao de duas vias, pois, se por um lado a tecnologia social
precisa da Economia Solidria como um projeto de sociedade,
como um projeto de longo prazo, por outro lado, a Economia
Solidria precisa da tecnologia social para se tornar uma alter-
nativa vivel ao capitalismo. Nas prximas sees, essa resposta
ser mais bem desenvolvida.
a tecnologia social precisa da economia solidria
Como j foi abordado neste texto, a tecnologia no pode ser
entendida como um artefato isolado, mas sim como um sistema
sociotcnico. Isso significa dizer que ela se relaciona com diver-
sos aspectos da sociedade (ambiente, cultura, poltica, economia)
no apenas gerando efeitos na sociedade, mas tambm sendo re-
sultado desses aspectos. No possvel pensar a tecnologia sem
pensar a sociedade na qual est inserida.
Por isso, pensar em tecnologia social sem pensar em projeto
de sociedade se restringir a solues pontuais e paliativas que
no do respostas para a superao de suas causas. Alm disso,
buscar solues tecnolgicas para necessidades populares sem a
efetiva participao do usurio-produtor (a exemplo do movi-
mento de tecnologia apropriada) no ir gerar tecnologias que
sejam compatveis com o engajamento tecnolgico anteriormente
abordado. nesse sentido que a Economia Solidria se coloca
como necessria para o desenvolvimento da tecnologia social.
Em primeiro lugar, a Economia Solidria evidencia necessidades
concretas de desenvolvimento tecnolgico para grupos popula-
res (para a agricultura familiar, coleta, triagem e reciclagem de
113
Las S. Fraga
resduos slidos etc.). Aliada s demandas concretas, tem-se a
autogesto que aponta caminhos (inclusive de mtodo, mas no
apenas) para a consolidao de um engajamento sociotcnico.
Por fim, e aqui est o ponto central, a Economia Solidria coloca
um horizonte de longo prazo, um projeto de sociedade.
Aliar o desenvolvimento de tecnologia social Economia
Solidria permite no perder o horizonte, no deixar de seguir a
utopia da superao dessa sociedade desigual e injusta. disso
que se trata a Economia Solidria, pois, mesmo com suas limi-
taes, ela alimenta a utopia e possibilita a pensar o futuro. E o
cenrio futuro que este projeto traz tona quando os grupos
populares sero responsveis pela produo, circulao e con-
sumo. quando o trabalho produtivo e reprodutivo for traba-
lho autogerido pelos prprios trabalhadores e trabalhadoras.
a autogesto em todos os mbitos da vida. E, nesse sentido, a
tecnologia social tambm precisa ser entendida tanto como uma
resistncia para o agora, mas tambm como uma utopia: a cons-
truo de sistemas sociotcnicos coerentes com um horizonte de
longo prazo e no apenas de artefatos isolados.
a economia solidria precisa da tecnologia social
Por outro lado, para a Economia Solidria se tornar vivel en-
quanto projeto de sociedade, ela precisar da tecnologia social, ela
precisar de tecnologias adequadas a ela. Mas o que isso significa?
Significa tecnologias que sejam condizentes com os valores da Eco-
nomia Solidria. Em especial, a autogesto enquanto modelo de
sociedade depende fortemente de tecnologias que no mantenham
as estruturas de poder na sociedade. A superao do trabalho alie-
nado demanda uma tecnologia que no seja hierrquica, alienante,
nem que segmente o trabalho e que no possibilite a compreenso
do trabalhador sobre seu trabalho; demanda uma tecnologia que
possibilite o controle e trabalho coletivo, que seja ambientalmente
114
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
sustentvel, que tenha em conta o respeito sade do trabalhador,
que promova relaes igualitrias de gnero etc.
O que alguns autores (Novaes, 2007; Dagnino, 2010; Neder ,
2011; Feenberg, 2010) tm colocado que essa preocupao ain-
da no prioritria para a Economia Solidria e nem para outros
movimentos de resistncia e setores da esquerda. Esses mesmos
autores trazem questionamentos sobre a necessidade de pensar
para alm da apropriao dos meios de produo. Nesse sentido,
evidenciam a necessidade de uma nova plataforma cognitiva para
uma nova plataforma civilizacional.
Essa nova plataforma cognitiva, no entanto, no pode par-
tir do zero. Na maioria das vezes, as tecnologias disponveis no
so compatveis com a autogesto (e isso bastante evidente no
trabalho com grupos populares). No entanto, mesmo no sendo
compatvel, preciso haver um processo de adequao dessas tec-
nologias, o que chamamos de Adequao Sociotcnica.
A Adequao Sociotcnica um processo coletivo (entre
tcnicos, pesquisadores, engenheiros e trabalhadores e trabalha-
doras) de reprojetamento das tecnologias existentes ou de desen-
volvimento de novas tecnologias segundo os valores e interesses
do coletivo de trabalhadores. E desse processo que surge a pos-
sibilidade de construir uma plataforma cognitiva coerente com a
autogesto.
os desafios
Posta a relao entre tecnologia social e Economia Solid-
ria, sero apresentados brevemente alguns desafios relaciona-
dos concretizao da proposta trazida por este artigo. Esses
desafios so obstculos que tm sido evidenciados em prticas
que tentam articular Economia Solidria e tecnologia social
e tm trazido tona esses obstculos, atravs da reflexo so-
bre suas prticas de educao popular e de pesquisa-ao com
115
Las S. Fraga
grupos populares. Experincias como o coletivo de arquitetos
Usina
14
(Centro de Trabalhos Para o Ambiente Habitado), o
Grupo de Estudos e Pesquisa em Economia Solidria e Produ-
o e Tecnologia
15
da Incubadora Tecnolgica de Cooperativas
Populares da Universidade de Campinas e o Ncleo de Solida-
riedade Tcnica
16
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
so algumas delas.
Escolhemos centrar em trs desafios: a viso de cincia e
tecnologia, a necessidade de formao de engenheiros, tcnicos e
arquitetos e a disputa por uma Poltica Cientfica e Tecnolgica
coerente com a Economia Solidria e a tecnologia social.
Vises distorcidas da cincia e da tecnologia
A maioria das pessoas que pensam uma sociedade mais
justa no se questiona sobre a necessidade de repensar a cincia
e a tecnologia. De maneira geral, a ideia de que mais cincia
seria sempre algo positivo e que geraria benefcios para a socie-
dade predomina no senso comum. A partir dessa viso, seria
necessrio apenas reivindicar maior investimento em cincia e
tecnologia e ampliao do acesso a tecnologias existentes para
os excludos (e aqui esto os grupos populares). Na Economia
Solidria essa viso se coloca com frequncia na reivindicao
de tecnologias mais modernas e eficientes. Essa viso se fun-
damenta em duas ideias j desenvolvidas aqui: a neutralidade
cientfica e o determinismo tecnolgico. Por isso, um primeiro
desafio a superao dessa viso de cincia e de tecnologia para
a compreenso das complexas relaes entre cincia, tecnologia
e sociedade.
14
http://www.usinactah.org.br/
15
http://www.itcp.unicamp.br/drupal/?q=node/19
16
http://www.soltec.ufrj.br/
116
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
nesse sentido que os Estudos Sociais da Cincia e da Tec-
nologia apontam para a participao pblica nas decises sobre
o controle do desenvolvimento da tecnocincia e tambm na sua
avaliao. Por sua vez, a participao pblica aponta para a ne-
cessidade de uma educao tecnocientfica coerente com os pres-
supostos do campo. A tecnocincia, quando considerada a par-
tir de sua interao com a sociedade, pressupe uma educao
tecnocientfica que apresente a tecnocincia como condicionada
por valores e interesses e, por isso, passvel de questionamento e
permeada por escolhas.
Alavancar uma sociedade alternativa, baseada em outros
valores, interesses e atores, exige uma reflexo profunda sobre a
neutralidade da tecnocincia e a relao que esta tem com as for-
as que estruturam a sociedade.
engenheiros, tecnlogos e arquitetos no sabem produzir
tecnologias sociais
O desenvolvimento da tecnologia social depende de enge-
nheiros, tecnlogos e arquitetos capazes de compreender as rela-
es entre cincia, tecnologia e sociedade. No entanto, a formao
desses profissionais focada no trabalho e no desenvolvimento
de tecnologias para e com as empresas multinacionais e no para
grupos populares
17
.
O debate sobre a formao do desses profissionais tem se
dado principalmente em relao ao anacronismo/inadequao do
currculo das diversas modalidades de engenharia e, frequente-
mente, a soluo encontrada a adio de contedos humansti-
cos ao currculo para uma atuao tica.
A grande maioria das crticas formao do engenhei-
ro sugere adio de contedos e/ou disciplinas com formatos
17
Ver Fraga (2007).
117
Las S. Fraga
alterna tivos (participativas, integradoras), mas no questionam
pontos caractersticos da forma de ensinar engenharia. At que
ponto essa maneira de ensinar, de organizar os contedos, de
uma forma muito sutil, quase subliminar, no est passando
para os estudantes uma viso segmentada, autoritria e eli-
tista? At que ponto a velha e mal discutida separao entre as
cincias humanas e exatas no legitima a ideia de que a realidade
pode ser fragmentada?
A ideia de partir de um conhecimento tcnico geral, abstrato,
que serviria para qualquer atuao, parece estar baseada em uma
supervalorizao da prpria engenharia em relao s outras ativi-
dades tcnicas que no passaram pelo pedgio dos primeiros
anos de engenharia. O engenheiro um profissional que trabalha
essencialmente com a prtica, mas, diferentemente de um traba-
lhador de cho de fbrica ou de um tcnico, possui uma carga
terica que o diferencia e o qualifica. Sua atividade, a atividade
tecnolgica, diferente da atividade artesanal por ter uma carga
terica, uma carga cientfica, que precede a prtica. Ensinar
adotando a separao entre teoria e prtica passa a ser ento um
modo de buscar essa diferenciao do saber emprico em relao ao
saber cientfico. Alm disso, a ideia de que existe um ncleo cient-
fico-terico comum, universal, que serviria a um grande nmero de
aplicaes refora o tecnicismo dos cursos de engenharia.
Essas questes evidenciam um segundo desafio: formar en-
genheiros
18
, tcnicos e arquitetos dentro da racionalidade socio-
tcnica e que, com isso, compreendam a necessidade do dilogo
com diferentes grupos sociais e, em especial, com trabalhadores
e trabalhadoras, para a construo de solues tecnolgicas para
grupos populares.
18
Sobre a atuao de engenheiros com grupos populares, ver Fraga, Vascon-
cellos e Silveira (2007).
118
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
inexistncia de uma poltica nacional de cincia e tecnologia para
o desenvolvimento social
Por fim, trazemos uma questo muito importante para a
viabilidade do desenvolvimento de tecnologia social para a Eco-
nomia Solidria. Para alm da resistncia tecnolgica e da Eco-
nomia Solidria, preciso uma reorientao da Poltica Cientfi-
ca e Tecnolgica (PCT) que d suporte para essas experincias.
A crtica disfuncionalidade da PCT brasileira tem sido ob-
jeto de diversos pesquisadores (Dagnino, 2010; Bagattolli, 2008).
Como j citado anteriormente, autores latino-americanos j se
preocupavam na dcada de 1970 com a PCT e a nossa condio
perifrica. Ainda hoje, h aqueles que acreditam que a atual PCT
pode conduzir o pas ao desenvolvimento social e diminuio
das desigualdades. No entanto, em um movimento recente da
PCT brasileira, a temtica de cincia e tecnologia para o desen-
volvimento social foi includa na agenda dos principais atores
pblicos envolvidos com o tema.
Existe hoje uma Secretaria Nacional de Cincia e Tecno-
logia para o Desenvolvimento Social (Secis) e algumas aes da
Financiadora de Estudos e Projeto (Finep) e outros rgos fede-
rais para o desenvolvimento de tecnologia social. Fonseca (2010)
apresenta um estudo sobre a Poltica de Cincia e Tecnologia para
o Desenvolvimento Social entre 2003 e 2008. Ele destaca que a
Estratgia Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao Tecnol-
gica dividida em quatro eixos e o quarto Cincia, Tecnologia
e Inovao para o Desenvolvimento Social.
Dagnino e Bagattolli (2010), sobre essas aes, dizem:
A insero da temtica C&T para o Desenvolvimento Social en-
tre as quatro prioridades estratgicas do Programa de Acelerao
do Crescimento (...) um indicativo da crescente conscincia que
possui a comunidade de pesquisa e os demais envolvidos com a
119
Las S. Fraga
Poltica de CT&I acerca da necessidade de torn-la mais coerente
com o esforo que realiza o pas de promover o atendimento s
demandas sociais (Dagnino; Bagattolli, 2010, p. 285).
No entanto, esse esforo parece ainda no ser suficiente.
importante ressaltar, nesse sentido, que, comparado com o ora-
mento geral pra cincia e tecnologia, o gasto pblico com cincia e
tecnologia para o desenvolvimento social, isto , com temas rela-
cionados tecnologia social, de apenas 3% (Fonseca, 2010).
Em acordo com essa anlise, Dagnino e Bagattolli (2010)
apontam que para transformar tecnologia social em poltica p-
blica seria necessrio diminuir o poder poltico dos demais atores
(empresas, governo ou Estado e comunidade de pesquisa) e au-
mentar o poder relativo dos movimentos sociais na conformao
da agenda da PCT. Alm disso, seria necessrio alterar o prprio
modelo cognitivo da PCT, pois ele que determina tanto as agen-
das quanto o peso poltico dos demais atores.
O trabalho de Fonseca (2010) traz elementos muito impor-
tantes para o debate aqui iniciado. O autor reafirma a necessida-
de de uma mudana profunda na PCT
No bastam mudanas pontuais. preciso mudar elementos cen-
trais do processo que engendra a Tecnologia Convencional cuja
operao supe e garante a subordinao e a apropriao privada
do excedente. A Tecnologia Convencional no pode ser, simples-
mente, usada para promover a incluso social. Para promover
mudanas efetivas preciso alterar o processo de elaborao (for-
mulao, implementao e avaliao) de polticas nos seus ele-
mentos centrais (Fonseca, 2010, p. 201).
Mas aponta que essa mudana no parece ser um jogo ga-
nho, uma vez que:
Dentro do jogo social de disputas, inclusive pelo domnio sobre
o Estado, nenhum grupo social ir produzir polticas para toda a
120
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
sociedade . Aqueles atores com mais fora tero maior capacidade
de conduzir a formao da agenda decisria a seu favor. O espe-
cfico na PCT que ela elaborada sob domnio do modelo cog-
nitivo do mesmo grupo social que ir se beneficiar da poltica, a
comunidade de pesquisa. No entanto, a inverso da lgica da PCT
no se dar primeiro pelo convencimento da comunidade cientfi-
ca, mas sim pela insero de novos atores na construo da agen-
da, tornando-a mais democrtica (Fonseca, 2010, p. 211).
E isso aponta para o terceiro desafio: a disputa da PCT bra-
sileira tambm como horizonte para os partidrios da tecnologia
social e da Economia Solidria. Trata-se de evidenciar as necessi-
dades tecnolgicas e reivindicar recursos (financeiros, humanos,
materiais) para viabilizar processos de Adequao Sociotcnica
com e para os grupos populares e movimentos sociais.
consideraes finais
O papel da Universidade dentro dessa relao necessria en-
tre tecnologia social e Economia Solidria , ento, formar pro-
fissionais e produzir conhecimentos que sejam compatveis com
esse projeto de sociedade, a servio da autogesto e de uma socie-
dade para alm do capital.
No entanto, essa relao precisa se dar por meio do conta-
to direto de alunos e professores com as necessidades populares,
atravs de uma prtica dialgica de construo de conhecimento
e de luta conjunta. A universidade, atravs do ensino, da pesquisa
e da extenso deve ser uma porta aberta para a os grupos popu-
lares, para os movimentos sociais, para que estes entrem na uni-
versidade e evidenciem essa delinquncia acadmica que nos
falava Maurcio Tragtenberg.
Para esse desafio de fortalecimento da Economia Solidria en-
quanto prtica da autogesto e da tecnologia social enquanto busca
por sistemas sociotcnicos coerentes com esse projeto de sociedade,
121
Las S. Fraga
a universidade no pode ser aquela que apenas analisa a sociedade,
mas sim aquela que tambm atua junto com as iniciativas populares.
Nas palavras de Freire (1987)
Porque um ato de coragem, nunca de medo, o amor compro-
misso com os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos,
o ato de amor est em comprometer-se com sua causa. A causa
de sua libertao.
E desse compromisso que surgem experincias conectadas
de tecnologia social e de Economia Solidria. Por enquanto, so
experincias pontuais e paliativas, embora urgentes. A urgncia,
no entanto, no pode levar a possibilidades pouco ambiciosas.
dela que emerge a utopia de uma poltica cientfica e tecnolgica
subjugada s necessidades populares.
referncias bibliogrficas
BERNARDO, Joo. A autogesto da sociedade prepara-se na autoges-
to das lutas. Pi Piou!, So Paulo, n. 3, nov. 2005.
BAGATTOLLI, Carolina. Poltica Cientfica e Tecnolgica & Dinmi-
ca Inovativa no Brasil. Campinas: Unicamp, 2008 (dissertao
de mestrado).
CORAGGIO, J. L. Sustentabilidade e luta contra-hegemnica no cam-
po da Economia Solidria. In: KRAYCHETE, G. e AGUIAR, K.
(org.). Economia dos setores populares: sustentabilidade e estra-
tgias de formao. So Leopoldo: Oikos , 2007, p. 67-89.
CRUVINEL, Flvio. Programa de Apoio s Tecnologias Apropriadas
PTA: avaliao de um programa de desenvolvimento tecnolgi-
co induzido pelo CNPq. Braslia: Universidade de Braslia, (Dis-
sertao de mestrado de Poltica e Gesto de Cincia e Tecnolo-
gia; CDS). Centro de Desenvolvimento Sustentvel, 2001. 171 p.
CRUZ, Antnio Carlos Martins da. A diferena da igualdade: a dinmica
da Economia Solidria em quatro cidades do Mercosul . Tese (Dou-
torado) Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006.
DAGNINO, R. Neutralidade da Cincia e Determinismo Tecnolgi-
co. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. 279 p.
122
Autogesto e Tecnologia Social: utopia e engajamento
(org.). Tecnologia Social: ferramenta para construir outra
sociedade. Campinas: Komedi, 2010.
; BRANDO, Flavio Cruvinel; NOVAES, Henrique
Tahan. Sobre o marco analtico-conceitual da tecnologia social.
In: LASSANCE JUNIOR, Antonio et al. Tecnologia social: uma
estratgia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundao
Banco do Brasil, 2004, p. 15-64.
DEDECCA, Claudio Salvadori; BALTAR, Paulo Eduardo de Andrade.
Mercado de trabalho e informalidade nos anos 90. Estudos Eco-
nmicos, So Paulo, v. 27, especial, 1997, p. 65-84.
DIAS, Rafael B. A poltica cientfica e tecnolgica latino-americana:
relaes entre enfoques tericos e projetos polticos. Dissertao
(mestrado) Unicamp, Campinas, 2005.
EFREM FILHO, Roberto. Paulo Freire e as armadilhas da hegemonia.
Revista Carta Maior. Disponvel em: <http://www.cartamaior.
com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=3953>. Acesso
em: 11 ago. 2008.
FARIA, Maurcio Sard de. Autogesto, Cooperativa, Economia So-
lidria: avatares do trabalho e do capital. 410 f. Tese (doutora-
do) Curso de Sociologia Poltica, Departamento de Filosofia
e Cincias Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianpolis, 2005.
FEENBERG, Andrew. O que a filosofia da tecnologia. In: NEDER ,
Ricardo T. A teoria crtica de andrew feenberg. Braslia: Obser-
vatrio do Movimento pela Tecnologia Social na Amrica Lati-
na/Cds/Unb/Capes, 2010, p. 51-65.
FONSECA, Rodrigo. Poltica cientfica e tecnolgica para o desenvolvi-
mento social: uma anlise do caso brasileiro. Tese (Doutorado) em
Poltica Cientfica e Tecnolgica Unicamp, Campinas, 2010.
FRAGA, Las Silveira. O curso de graduao da Faculdade de Enge-
nharia de Alimentos da Unicamp: uma anlise a partir da Edu-
cao em Cincia, Tecnologia e Sociedade. 2007. 97 f. Disser-
tao (Mestrado) Curso de Poltica Cientfica e Tecnolgica,
Instituto de Geocincias, Unicamp, Campinas, 2007.
; VASCONCELLOS, Bruna; SILVEIRA, Ricardo. O en-
genheiro Educador. In: ENCONTRO NACIONAL DE EN-
GENHARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Anais do V
ENEDS, 2007, Rio de Janeiro. So Paulo, 2008.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1987.
123
Las S. Fraga
. Pedagogia dos sonhos possveis. So Paulo: Editora
Unesp, 2001.
GUILLERM, Alain; BOURDET, Yvon. Autogesto: uma mudana ra-
dical. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
LAVILLE, J. L. e FRANA FILHO, G. C. Economia Solidria, uma
abordagem internacional. Porto Alegre: Editora da UFRGS,
2004.
LUXEMBURGO, R. Reforma ou revoluo. Lisboa: Estampa, 1970.
NASCIMENTO, Claudio. Autogesto: Economia Solidria e utopia .
Otra Economia, Buenos Aires, v. 2, n. 3, p. 27-40, 2008. Dispo-
nvel em: <http://www.riless.org/otraeconomia/Nascimentoed3.
html>. Acesso em: 19 jun. 2011.
NOVAES, Henrique Tahan. O retorno do caracol sua concha: alie-
nao e desalienao em associaes de trabalhadores. So Pau-
lo: Expresso Popular, 2011.
PESTRE, D. Por uma nova Histria Social e Cultural das Cincias : no-
vas definies, novos objetos, novas abordagens. Cadernos IG/
Unicamp, 1996, vol. 6, n. 1, p. 356.
QUIJANO, Anibal. El nuevo imaginario anticapitalista. Amrica Lati-
na en Movimiento, 2002, p. 14-22.
SCHUMACHER, E F. Small is beautiful: o negcio ser pequeno . Rio
de Janeiro: Zahar Editores, 1983.
SINGER, P. A recente ressurreio da Economia Solidria no Brasil.
In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Produzir para Viver: os ca-
minhos da produo no capitalista. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2002a.
THEIS, Ivo M.; MENEGHEL, Stella. M. Universidade, desenvolvi-
mento e meio ambiente. In: Christoph Wulf; Newton A. P. Bryan.
(org.). Desarrollo sustenible: conceptos y ejemplos de buenas
prcticas en Europa y Amrica Latina. Mnster: Waxmann Ver-
lag GmbH, v. 22, 2006, p. 85-97.
THOMAS, Hernn; BUCH, Alfonso. Actos, actores y artefactos : so-
ciologa de la tecnologa. Bernal: Universidad Nacional de Quil-
mes, 2008, 296 p.
WIRTH, Ioli; FRAGA, Las; NOVAES, Henrique T. Educao, traba-
lho e autogesto: limites e possibilidades da Economia Solidria.
In: BATISTA, Eraldo Leme; NOVAES, Henrique Tahan. Traba-
lho, educao e reproduo social: as contradies do capital no
sculo XXI. Bauru: Canal 6, 2011, p. 191-218.
124
125
em busca de uma pedagogia da produo
associada
Henrique T. Novaes
Mariana P. Castro
introduo
A busca por uma educao emancipatria, preocupada com
a formao integral do ser humano e a superao da sociedade
baseada na explorao, est presente j h muitos sculos na his-
tria da humanidade. Foram muitos os educadores, pedagogos,
filsofos e intelectuais que se dedicaram a essa busca, e que ainda
hoje nos inspiram.
J no sculo XVI, Montaigne destacava a importncia de
um mtodo de ensino que se preocupasse mais com a construo
de valores e de um conhecimento coerente do que com a simples
repetio de ideias de outrem. Quando fala de sua educao na
infncia o autor destaca a importncia de amar as cincias e o
dever no pela fora, mas por minha prpria vontade, e que me
educasse pela doura e sem rigor nem constrangimento, dando-
me inteira liberdade (Montaigne, 1972, p. 92). Afirma, dessa
forma, que o melhor atrair a vontade e a afeio, sem o que se
conseguem apenas asnos carregados de livros. Do-lhes a guar-
dar, com chicotadas, um saco de cincia, a qual, para que seja de
proveito, no basta ter em casa: cabe desposar (Ibidem, p. 93).
126
Em busca de uma pedagogia da produo associada
No sculo XVII, Comenius defendia a construo de uma
escola democrtica e definia uma escola perfeitamente corres-
pondente ao seu fim aquela que uma verdadeira oficina de ho-
mens, isto , onde as mentes dos alunos sejam mergulhadas no
fulgor da sabedoria, para que penetrem prontamente em todas as
coisas manifestas e ocultas (). Numa palavra: onde absoluta-
mente tudo seja ensinado a todos (Comenius, 2001, p. 50).
Rousseau, no sculo XVIII, falava da educao pela e para
a liberdade, com o objetivo de formar verdadeiros sujeitos his-
tricos. Para que o educando seja sujeito, necessrio despertar
nele, mais que qualquer outra coisa, o desejo de aprender. Nas
palavras deste pensador social:
Cuida-se muito de descobrir os melhores mtodos de ensinar a ler;
inventam-se escrivaninhas e mapas; fazem do quarto da criana
uma tipografia. Locke quer que ela aprenda a ler com dados. No
vos parece uma bela inveno? Que lstima! Um meio mais segu-
ro, e que sempre se esquece, o desejo de aprender. Dai criana
esse desejo e deixai de lado vossas escrivaninhas e vossos dados.
Qualquer mtodo ser bom (Rousseau, 2004, p. 110)
1
.
J no sculo XX, no contexto da Primeira Guerra Mundial
e da constituio da URSS, podemos destacar os pedagogos so-
viticos A. Makarenko, V. Shulgin, N. Krupskaya e M. Pistrak,
entre outros. Cada um a seu modo centrava suas preocupaes
em uma teoria e uma prtica pedaggica capazes de construir o
homem novo, que pudesse ser no s lutador, mas tambm cons-
trutor da nova sociedade emancipada do capital (Freitas, 2009).
No prefcio do livro A Escola-Comuna do NarKomPros
2
, escrito
1
Para a crtica ao pensamento de Rosseau, ver Mszros (2002).
2
No Brasil o livro foi traduzido por Luiz Carlos de Freitas com o nome A
Escola-Comuna (Expresso Popular, 2009).
127
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
em 1924, Krupskaya traduz as preocupaes pedaggicas desse
grupo com as seguintes palavras:
Ns precisamos criar uma escola que prepare os construtores da
nova vida. A passagem do poder para as mos dos trabalhadores
e camponeses abre ante o pas perspectivas enormes, possibilida-
des enormes, mas, a cada passo, ns vemos as dificuldades que
so criadas na tarefa de sua construo, pela falta de cultura ge-
ral do pas, pela ausncia de saber trabalhar e viver coletivamen-
te. (...) A escola deve ajudar a criar e fortalecer a nova juventude,
deve formar os lutadores por um futuro melhor, os criadores dele
(Krupskaya, 2009, p. 105).
Assim, a nova escola revolucionria deveria ter o trabalho
como articulador do processo de ensino e do prprio currculo
escolar; no o trabalho de faz de conta no interior da escola,
mas o trabalho socialmente til. Esta perspectiva, alm de reali-
zar a crtica ao contedo, em sentido amplo, coloca a escola na
sua relao crtica (de luta e construo) com a vida, com a prti-
ca social e suas lutas (Freitas, 2009, p. 79).
Mais ou menos no mesmo perodo histrico e tambm ins-
pirado nos pedagogos soviticos, C. Freinet desenvolve na Frana
uma proposta pedaggica organizada a partir do trabalho, em
seu sentido ontolgico, capaz de ensinar s crianas a delicada
arte de viver (Freinet, 1998). Para o autor, o elemento organiza-
dor do processo de aprendizado o trabalho, sendo este uma ne-
cessidade vital do ser humano e tambm da criana. Assim, Frei-
net (1998) define o trabalho como uma atividade que sentimos
to intimamente ligada ao ser que se torna uma funo dele, cujo
exerccio por si s sua prpria satisfao, mesmo que necessite
de fadiga e de sofrimento (p. 188).
No Brasil, no contexto de ascenso das lutas populares dos
anos 1950-1960 e diante da enorme quantidade de analfabetos
num pas com resqucios escravocratas, Paulo Freire se desta-
ca entre os grandes pedagogos libertrios. Para Freire (1987), o
128
Em busca de uma pedagogia da produo associada
dilogo a essncia da educao como prtica da liberdade. O
dilogo esse encontro dos homens, mediatizados pelo mundo,
para pronunci-lo, no se esgotando portanto na relao eu-tu
(Freire, 1987, p. 45)
3
. Dessa forma, o ato pedaggico no pode
resumir-se a transferir conhecimentos ou simplesmente troc-los.
preciso o ato de criar e recriar o dilogo, criar e recriar os co-
nhecimentos e, assim, nos estabelecermos enquanto ser mais
4
.
Os exemplos supracitados servem para ilustrar o rico uni-
verso da produo pedaggica e mostrar que as nossas preo-
cupaes no so exclusividade de nosso tempo, j tendo sido
pensadas, formuladas, experimentadas por diversas geraes an-
teriores.
Apesar dos diferentes contextos histricos e das diferentes
ideologias que permeiam cada uma dessas obras, e tambm tan-
tas outras, podemos destacar alguns pontos similares, que ser-
vem como plataforma de construo de uma pedagogia emanci-
patria; a) a primeira e mais marcante dessas caractersticas a
estreita relao entre trabalho, educao e vida. A escola, ou o
ambiente educacional, no um espao de preparao para a
vida, mas sim a prpria vida; b) outro aspecto importante diz
respeito auto-organizao e ao trabalho coletivo; c), por lti-
mo, mas no menos importante, a necessidade de uma prxis
emancipatria que insira as escolas nas lutas do seu tempo, for-
mando sujeitos histricos a formao do ser humano em toda
a sua complexidade. Mas algum poderia se perguntar: por que
buscar uma pedagogia da produo associada no sculo XXI?
3
Para uma contextualizao do pensamento de Freire, ver Saviani (2007).
4
Para Freire (1987), ser mais a vocao histrica e ontolgica do homem.
A busca por ser mais , portanto, a busca pela humanizao dos homens.
Essa busca s pode acontecer atravs do dilogo, da solidariedade, com f e
esperana, sendo impossvel de ser realizada atravs do antagonismo entre
opressores e oprimidos.
129
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
A regresso histrica que perdura na Amrica Latina desde
as ditaduras militares colocou os trabalhadores na defensiva. As
dcadas perdidas e vendidas financeirizaram a nossa economia,
privatizaram os bens pblicos, desindustrializaram os pases da
regio, aumentaram o subemprego e o desemprego, promoveram
processos de relocalizao, fechamento de fbricas e terceiriza-
o
5
, concentraram a renda, aumentaram o analfabetismo funcio-
nal e a segregao da j segregada sociedade brasileira, que pode
ser representada pelos extremos ornitorrincos dos condomnios e
das favelas, chamadas agora pelo nome de comunidades.
No entanto, mesmo num contexto defensivo e de regres-
so histrica, experincias contra-hegemnicas como as das
Fbricas Recuperadas (Vieitez e Dal Ri, 2001; Novaes, 2007),
os assentamentos coletivos do MST (Christofolli, 2000; Pagotto,
2003; Dal Ri e Vieitez, 2008), as cooperativas de seringueiros
na Amaznia, as cooperativas habitacionais na Amrica Latina,
algumas pequenas cooperativas urbanas e rurais, nos limites es-
treitos do contexto atual podem ser consideradas embries de
novas relaes de produo e reproduo da vida e, ao mesmo
tempo, apontam para a autogesto em sentido amplo, relanando
temas clssicos da autogesto no sculo XXI: o trabalho asso-
ciado como princpio educativo, a necessidade de uma educao
sistemtica para alm do capital, muito diferente do que as imple-
mentadas no Senai, Ifets, universidades pblicas e na educao
profissional rural convencional.
Muito embora criem embries de superao do trabalho
alienado, Dal Ri e Vieitez (2001) observam que as associaes
de trabalhadores ainda esto no terreno da produo de merca-
dorias. Para eles, pode-se destacar o fato de que participam da
competio econmica, cujas regras e parmetros so estabeleci-
dos pelas empresas capitalistas e seu funcionamento encontra-se
5
Sobre isso, ver Antunes (2007).
130
Em busca de uma pedagogia da produo associada
em boa parte determinado pelas leis de valorizao do capital
e pela irracionalidade e pelas oscilaes econmicas tpicas dos
mercados que os envolvem. No entanto, estes pesquisadores si-
nalizam que a organizao da produo a dimenso sobre a
qual esse fenmeno incide de modo mais acentuado, afetando os
diversos fatores de produo, tais como ritmos de trabalho, nvel
de qualidade dos produtos, implementao de novas tecnologias,
utilizao de mquinas e equipamentos. Para eles, est havendo
a possibilidade de emergncia de um novo trabalhador coletivo
autogestionrio que apresenta propriedades distintas das usuais,
mesmo sabendo que os processos de trabalho vigentes no capi-
talismo encontram-se em oposio ao desenvolvimento das rela-
es autogestionrias.
Para ns, o desenvolvimento de experincias autogestion-
rias torna-se imprescindvel neste sculo XXI. A crtica ao ca-
pitalismo real e ao socialismo real nos inspira a inventar ou
experimentar formas que vivenciem e ao mesmo tempo apontem,
tal como dizia Marx, para uma sociedade governada pelos pro-
dutores livremente associados. Ao contrrio do que diz a famosa
frase de Margareth Thatcher, no h alternativa (Mszros,
2002), parcelas dos movimentos sociais, mesmo que sem visibili-
dade e sofrendo reaes por parte do capital, esto construindo
in statu nascendi novas alternativas autogestionrias. Neste
sentido, Mszros (2004) afirma que um dos desafios do sculo
XXI justamente combinar as necessidades imediatas de sobre-
vivncia com as necessidades mais abrangentes, que tm mais a
ver com transformaes de longo prazo.
Cabe ressaltar, por ltimo, assim como apresentado na in-
troduo deste trabalho, que o debate sobre a educao liber-
tria, democrtica e emancipatria no novo. Em contextos
revolucionrios, pedagogos e o movimento operrio pensaram
e tentaram praticar estratgias para alm do capital que abarca-
vam a totalidade social: as escolas autogestionrias, o trabalho
131
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
associado, o controle autogestionrio das cidades, a construo
de habitaes autogestionrias etc.
Depois desta breve contextualizao e argumentao sobre
a atualidade do nosso tema, iremos agora mostrar ao leitor o per-
curso deste artigo. O trabalho se dividir em trs sees. Na pri-
meira seo fizemos uma breve sntese sobre o papel da educao
das classes sociais no sculo XX. Na segunda seo delineamos
os pilares da educao para o florescimento da produo associa-
da: a) a autogesto e o trabalho coletivo; b) a necessidade de uma
nova educao sociotcnica que ajude a desmercantilizar a so-
ciedade; c) a necessidade de construo de mtodos pedaggicos
libertrios; d) a prxis pedaggica; e) a necessidade da educao
para a luta, isto , a formao de lutadores que podero descons-
truir a sociedade de classes. Mesmo reconhecendo a importncia
da histria e da atualidade como categorias imprescindveis
para uma pedagogia do trabalho associado, elas no foram devi-
damente analisadas neste artigo. Encerramos o artigo com nos-
sas consideraes finais.
a educao na sociedade de classes
Poderamos iniciar esta seo com um dilogo direto com o
pesquisador Luiz Carlos Freitas (2009), para quem a escola for-
mal faz parte de uma rede de agncias formativas que envolve
desde a famlia, igrejas, sindicatos, partidos, meios de comunica-
o, os conflitos e a cooperao no trabalho fabril etc.
Segundo Mszros (2006), alm da reproduo, numa es-
cala ampliada, das mltiplas habilidades sem as quais a atividade
produtiva no poderia ser realizada, o complexo sistema educa-
cional da sociedade tambm responsvel pela produo e re-
produo da estrutura de valores. J Baudelot e Establet (1971)
procuram ver na escola um aparelho de reproduo do sistema
capitalista.
132
Em busca de uma pedagogia da produo associada
Numa outra perspectiva, outros autores procuram observar
os conflitos que surgem na escola. Para estes, ela no um mero
aparelho de reproduo mecnica das relaes sociais, havendo
espao para conformao, luta, resistncia, transformao e mo-
dificao da sociedade de classes. Para ns, preciso identificar
a tendncia e a contratendncia que vigoram nos sistemas escola-
res, sempre com uma abordagem histrica, em movimento, que
capte as especificidades de cada momento histrico
6
. Para isso,
pretendemos relacionar, a seguir, a questo educacional com as
mudanas no mundo do trabalho.
Em linhas gerais, no desenvolvimento dos diversos padres
de acumulao capitalista (revoluo industrial, taylorismo-for-
dismo, toyotismo etc.), o trabalhador, ensinado a aceitar uma
condio de submisso, aprende a fazer frente dominao exer-
cida pelo capital, que por sua vez se v forado a recriar novas
formas de dominao. no bojo deste processo pedaggico, de
construo e desconstruo das relaes de produo, que so for-
jadas as novas formas de organizao do trabalho e, consequen-
temente, as novas formas de organizao da sociedade (Kuenzer,
1985). Em outras palavras, o modo de produo do capital no
esttico e invarivel. Num contnuo renovar e inovar, o capi-
tal encontra diferentes caminhos para a sua reproduo, sempre
com um ar de novidade (Tragtenberg, 2004).
Com a primeira Revoluo Industrial, a heterogesto passa a
ser o modelo predominante da organizao capitalista e funda-
mentada principalmente na obra A riqueza das naes de Adam
Smith. Em sua teoria, Smith (1985) mostra que a riqueza no
6
Para Behring e Boschetti (2006), preciso analisar as polticas sociais como
processo e resultado de relaes complexas e contraditrias que se estabele-
cem entre Estado e sociedade civil, no mbito dos conflitos e luta de classes
que envolvem o processo de produo e reproduo do capitalismo, recusa
utilizao de enfoques restritos ou unilaterais, comumente presentes para
explicar sua emergncia, funes ou implicaes (p. 36).
133
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
advm do comrcio, ao contrrio do que pregavam os mercantilis-
tas, mas sim do trabalho, o nico fator de produo capaz de gerar
valor. Assim, a riqueza das naes depende diretamente do grau de
produtividade do trabalho. Com a sua Teoria das Vantagens Abso-
lutas, o autor ainda acrescenta que a produtividade decorre funda-
mentalmente do grau de especializao da economia, que por sua
vez determinado pelo grau de diviso do trabalho desta.
As ideias de Smith foram aprofundadas por outros econo-
mistas clssicos, que tambm geraram importantes contribuies
para o pensamento capitalista, como por exemplo David Ricar-
do, John Stuart Mill e Malthus, e para a teoria e prtica socialis-
ta, nas mos de Karl Marx.
No sculo XX, com a teoria geral da administrao de
Taylor, posteriormente aplicada por Ford na indstria automobi-
lstica, a diviso do trabalho capitalista com vistas acumulao
ampliada do capital ganha centralidade, permeando no s as
indstrias discretas, mas tambm o Estado, a famlia etc.
7
A partir de ento, a heterogesto institucionalizada como
o princpio fundamental da organizao capitalista. As tarefas
designadas ao trabalhador so fragmentadas, de forma que este
j no tem mais o domnio sobre o que est produzindo e subme-
te-se apenas a repetir um determinado nmero de gestos infinitas
vezes. institucionalizada tambm a separao entre concepo
e execuo do trabalho o que Gramsci chama de separao en-
tre o homo faber e o homo sapiens e retirada do trabalhador
qualquer possibilidade de criar, pensar ou controlar o processo
produtivo em sua totalidade (Castro, 2011). bastante conheci-
da a frase de Taylor, de que todo possvel trabalho cerebral deve
ser banido do cho de -fbrica e concentrado no departamento
de planejamento, ficando o trabalho de concepo nas mos de
engenheiros, economistas, administradores de empresas etc.
7
Para este debate, ver o artigo de Felipe Silva nesta coletnea.
134
Em busca de uma pedagogia da produo associada
Com o impacto da Revoluo Industrial e do pensamento
fordista-taylorista, a escola forada a ligar-se de alguma manei-
ra ao mundo da produo. Deste modo, torna-se o local onde a
classe trabalhadora deveria aprender os conhecimentos e valores
estritamente necessrios para o trabalho na fbrica e suficien-
tes para mant-la em sua posio subordinada (Tiriba e Fischer,
2009).
Durante o perodo em que o modelo taylorista-fordista
predominou, houve um intenso acmulo de capitais por parte
das grandes corporaes. No entanto, a partir dos anos 1970 o
capitalismo comea a adentrar uma crise estrutural, caracteri-
zada principalmente pela queda na taxa de lucro causada pelo
aumento do preo da fora de trabalho, resultante das lutas dos
trabalhadores nos anos 1960; pelo desemprego estrutural que
acabou por ocasionar uma retrao no consumo; e pela crise
do Estado de bem-estar social e a intensificao dos processos
de privatizaes, dados pela crise fiscal do Estado capitalista
(Antunes, 2001)
8
.
, ento, iminente a necessidade de o capital reestruturar-se
e buscar um novo padro de acumulao que leve o capitalismo a
uma nova fase de desenvolvimento. Surge a partir da o chamado
modelo flexvel de produo, ou toyotista, que promove proces-
sos de mundializao do capital e a financeirizao da economia,
que traz consigo novas formas de relaes polticas, econmicas
e sociais. Tal processo se apoia na flexibilidade dos processos de
trabalho, na abertura de novos mercados, dos produtos e dos pa-
dres de consumo, caracterizando-se pelo surgimento de novos
setores de produo, novos tipos de servios financeiros, novos
8
Mszros um dos poucos autores marxistas que no confunde crise com
catstrofe. Para ele, se estamos numa crise, no significa que o capital ir se
arruinar sem nenhum tipo de resistncia e reao que lhe permita resistir a
ela. Um bom exemplo disso a crise financeira de 2008, quando o Estado
socorreu diversas fraes do capital nos EUA, Europa, Japo etc.
135
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
mercados e, acima de tudo, altssima capacidade de inovao tec-
nolgica, comercial e organizacional (Harvey, 2004).
No toyotismo passa a vigorar o operrio polivalente e mul-
tifuncional, capaz de trabalhar com diversas mquinas simulta-
neamente. Surge a chamada flexibilidade profissional, na qual se
verifica a mescla entre elaborao e execuo de tarefas e estra-
tgias organizacionais. O trabalhador tornado polivalente deve
ser capaz de compreender a essncia do processo produtivo, au-
mentando esta eficincia e a produtividade em prol do capital,
tornando-se assim um dspota de si mesmo (Antunes, 2001).
Nesse sentido possvel constatar a apropriao de alguns dos
elementos da pedagogia socialista (trabalho coletivo, rodzio de
funes, novas habilidades etc.) por parte das tcnicas de admi-
nistrao capitalistas, o que s possvel devido ao seu esvazia-
mento enquanto prtica poltico-ideolgica.
Silva (2005) observou que a fbrica toyotista, mediante uma
pedagogia participativa, apropria-se do saber tcito e da subjeti-
vidade humana, levando a intensificao do ritmo do trabalho
ao paroxismo nas empresas de produo discreta. Evidentemente
que esse padro expande-se para outros setores e at mesmo para
o Estado, criando um tipo de trabalhador dcil, criativo e
engajado, sempre de acordo com as necessidades do capital.
Em termos histricos, no final do sculo XX, houve uma
reconstituio parcial e forada do homo faber com o homo
sapiens, promovida pelo modelo japons (acumulao flexvel),
em que o saber do trabalhador voltou-se contra si mesmo. Se
Taylor, no incio do sculo XX, lutou para banir todo poss-
vel trabalho cerebral do cho de fbrica, separando o homo
faber do homo sapiens e ignorando o saber do cho de fbrica,
o toyotismo e a Escola das Relaes Humanas perceberam que
o trabalhador tem muito saber, e este pode ento ser extrado
para o aumento da produtividade da fbrica. Veremos mais
frente que a autogesto muito diferente do toyotismo; trata-se
136
Em busca de uma pedagogia da produo associada
de uma tcnica sofisticada de explorao do saber e das mos
dos trabalhadores.
Mas ateno: na atual configurao do capital, so poucos
os trabalhadores que podem usar suas faculdades intelectuais e
se inserem num padro estvel, com carteira assinada, direitos
trabalhistas, direito aposentadoria, direito a uma alimentao
saudvel, transporte e habitaes dignas. Para ns, em funo do
desenvolvimento desigual e combinado, vastas regies do globo
terrestre so simplesmente jogadas no lixo da histria, tendo seus
trabalhadores como inempregveis. Para outros, resta o subem-
prego taylorista, com pouco ou nenhum direito trabalhista.
Neste cenrio, temos o retorno da acumulao primitiva, o
retorno do trabalho escravo, a mxima mercantilizao da vida e
a coexistncia de setores toyotista com inmeros setores tayloris-
tas. Para ns, o capital jamais poder extinguir as formas prec-
rias de trabalho, e isso deve sempre ser lembrado para contrariar
as teorias dos adeptos da sociedade do conhecimento.
Segundo Kuenzer (1998), estamos presenciando a polari-
zao das competncias, isto , um tero dos trabalhadores ser
toyotista, utilizando suas habilidades, competncias, destreza
e conhecimentos necessrios para a acumulao de capital. Perto
destes trabalhadores, mas num nvel hierrquico e salarial acima,
gestores e trabalhadores de alto nvel tambm fazem parte desta
sociedade toyotista. Cabe ressaltar que nestes casos a escola
necessria para a formao voltada ao mercado de trabalho e
para transmitir o currculo explcito e implcito aos tecnocratas
e trabalhadores.
Um segundo tero realiza trabalho precarizado, mal re-
munerado, terceirizado, sem direitos trabalhistas, com jornadas
extenuantes. Que tipo de conhecimento este trabalhador/traba-
lhadora vai necessitar? Muito pouco, pois neste caso a escola
serviria apenas para enquadr-los na ordem, para subordin-los
desde cedo a um chefe ou para saber seu papel na sociedade,
137
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
isto , o de ente marginalizado do mercado de trabalho estvel.
Em muitos desses casos o padro sempre ser taylorista, ainda
que incorpore alguns elementos do novo padro de acumulao.
O ltimo tero o dos inempregveis. Estudos tm mos-
trado o aumento vertiginoso do desemprego e subemprego es-
truturais na atual fase do capitalismo com hegemonia financeira
(M. Silva, 2010). Na Europa, 40% dos jovens espanhis esto
desempregados; em Portugal e na Grcia, as taxas so parecidas.
Na Frana, possvel encontrar nas ruas trabalhadores extre-
mamente qualificados com dez anos de desemprego. Um jovem
madrilenho informou Folha de S. Paulo que nunca viu tanto
garom que possui doutorado (FSP, 06/06/2011)
9
.
Temos ento, num polo bastante diminuto, escolas voltadas
para a preparao do novo trabalhador flexvel, participativo,
que interaja com os demais, adaptado ao trabalho em equipe e
que busque novas solues, sempre do ponto de vista do capi-
tal. No outro extremo, escolas voltadas para jovens terceirizados,
precarizados com baixos salrios, como: empacotadores, opera-
dores de telemarketing, trabalhadores da cana-de-acar, dentre
inmeras funes com caractersticas tayloristas. Na mesma li-
nha, poderemos acrescentar que professores em algumas regies
do pas esto naturalizando o desemprego, pois percebem que
nas suas regies dificilmente haver emprego. Em outras pala-
vras, pesquisas mostram que, em muitas regies do Brasil, para
no falar de outros pases, a escola serve apenas consolar os jo-
vens inempregveis, transmitindo a mensagem de que no h
mais emprego para todos (M. Silva, 2009). Em sntese, para uma
estudiosa do assunto:
Quando se verificam esforos efetivos para a melhoria do ensino,
estes so bastante localizados e pontuais, j que a demanda por
9
Ver o Anexo I.
138
Em busca de uma pedagogia da produo associada
fora de trabalho com qualificaes mais complexas no advm
de todos os setores da economia brasileira, mas apenas daqueles
setores que competem com os segmentos mais inovadores e pro-
dutivos da economia mundial (Bruno, 1997).
a educao no trabalho associado
Nesta seo, pretendemos destacar aqueles que nos pare-
cem os elementos fundamentais de uma possvel e necessria
educao para o trabalho associado. So eles: a autogesto e o
trabalho coletivo, a educao sociotcnica para a desmercantili-
zao, as metodologias libertrias que unem teoria e prtica e a
educao de lutadores para a construo de uma sociedade para
alm do capital.
a autogesto e o trabalho coletivo
10
No foram poucos os pensadores sociais que, ao longo da
histria, acoplaram a teoria prtica da autogesto no traba-
lho e da autogesto das lutas necessidade de uma educao
sistemtica para alm do capital, umbilicalmente ligada su-
perao do trabalho alienado. Essa educao deveria preparar
desde cedo as crianas para o autogoverno pelos produtores
associados. Moisey Pistrak, Krupskaya, Viktor Shulgin, jun-
to com outros educadores soviticos, praticaram e pensaram
nessas questes para a URSS. As escolas-comuna tinham a
auto-organizao dos alunos e o trabalho enquanto princpios
fundantes (Pistrak, 1981, 2009). Tais concepes significaram
uma mudana radical na gesto da escola. No havia separao
entre escola e vida.
10
As pginas abaixo recuperam ideias desenvolvidas no artigo Wirth, Fraga e
Novaes (2011).
139
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
A experincia relatada por esses pedagogos na Escola-
Comuna tinha como fundamento a autogesto. Freitas (2009),
ao escrever sobre essa experincia, retoma os escritos de Viktor
Shulgin e traz uma citao do autor:
(...) preciso saber trabalhar coletivamente, viver coletivamente,
construir coletivamente, preciso saber lutar pelos ideais da clas-
se trabalhadora, lutar tenazmente, sem trguas; preciso saber
organizar a luta, organizar a vida coletiva, e para isso preciso
aprender, no de imediato, mas desde a mais tenra idade o cami-
nho do trabalho independente, a construo do coletivo indepen-
dente, pelo caminho do desenvolvimento de hbitos e habilidades
de organizao. Nisto constitui o fundamento da tarefa da auto-
gesto (Shulgin apud Freitas, 2009, p. 30).
Tambm Mszros (2006), num contexto e momento histri-
co diferente de Pistrak e dos outros educadores soviticos, mas em
grande medida herdeiro desse debate rompido pelo avano do stali-
nismo, recupera as crticas de Marx ao trabalho alienado, as pro-
postas de transformao da sociedade, em especial educacionais,
de Adam Smith, Locke e Robert Owen, para mostrar os limites da
educao dentro da rbita do capital. Alm disso, este pensador
social resgata e atualiza as propostas de Marx. dentro desse
caminho que Mszros teoriza a educao para alm do capital.
Podemos aqui seguir essas pistas para delinear o que seria uma
concepo de educao marxista com bases autogestionrias.
Mszros conecta a necessidade de transformaes mais
amplas no sociometabolismo social com as tarefas especficas da
educao. Para ele, a necessidade de superao positiva do traba-
lho alienado, tendo em vista a construo de uma sociedade de
produtores livremente associados, requer a
elaborao de estratgias apropriadas e adequadas para mudar
as condies objetivas de reproduo, como para a automudana
consciente dos indivduos chamados a concretizar a criao de
140
Em busca de uma pedagogia da produo associada
uma ordem sociometablica radicalmente diferente (Mszros,
2006, p. 65).
A partir dos pedagogos e pensadores da educao para
alm do capital estabelecem-se paralelos com a educao para
a autogesto no contexto atual. muito importante ressaltar
as diferenas entre os dois momentos histricos (a URSS re-
volucionria e os dias de hoje) e as diferenas entre a escola
formal e as unidades produtivas da Economia Solidria. No
entanto, ainda assim, o relato dessa experincia nos serve de
inspirao e, principalmente, de aprendizado para pensar as
experincias contemporneas e atualizar a teoria educacional
para alm do capital.
Se lutamos pela superao do capital em sua totalidade e
se acreditamos que a simples existncia dessas experincias no
so suficientes para tal, por que ainda assim acreditamos que o
trabalho associado tem um potencial transformador? A resposta
para essa pergunta exatamente o carter pedaggico que tem a
prtica da autogesto. Bernardo (2006) aborda essa questo de
maneira bastante elucidativa:
Enquanto as empresas no forem geridas pelos trabalhadores e
no por patres (de direita) nem por tecnocratas (de esquerda),
enquanto a sociedade no for administrada pelos trabalhadores
e no por polticos profissionais (de direita ou de esquerda), o ca-
pitalismo continuar a existir e, no mximo, mudar de forma,
sem alterar o fato bsico da explorao. Mas gerir as empresas e
a sociedade algo que se aprende de uma nica maneira: gerindo
as prprias lutas. S assim os trabalhadores podem comear a
emancipar-se de todo o tipo de especialistas e de burocratas. E,
com este objetivo, no h experincia simples demais. Por modes-
ta que seja uma experincia, os participantes vo-se habituando
a dirigir a sua atividade e vo aprendendo na prtica aquilo que
ope essa solidariedade e esse coletivismo ao Estado capitalista
(Bernardo, 2006, p. 3).
141
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
A vertente autogestionria da Economia Solidria se colo-
ca, a partir dessa perspectiva, como uma possibilidade imediata
de aprendizado da sociedade almejada, combinando a vivncia
ou experimentao da autogesto no presente com as lutas pela
expanso da autogesto na sociedade futura (Wirth, Fraga e No-
vaes, 2011; Castro, 2011).
Acreditamos que a autogesto nos movimentos sociais pode
desencadear o comeo de uma tendncia ou o desenvolvimento
de lutas que tendam autonomia (Bernardo, 2006, p. 2). Nessa
perspectiva, a pesquisadora Tiriba (2001) prope a pedagogia da
produo associada e traz alguns elementos concretos sobre o pro-
cesso de aprendizagem nas atuais experincias de autogesto:
Para o trabalhador associado, viver e administrar o processo de
produo lhe permitiria a elaborao crtica da atividade intelec-
tual existente em um determinado grau de desenvolvimento, em
consonncia com o trabalho manual; permitiria redimensionar
sua prxis em funo de uma nova concepo de mundo, fun-
damentada em um projeto de vida que busca a hegemonia do
homem e de seu trabalho (Tiriba, 2001, p. 195).
A autora enfatiza a conexo entre o trabalho manual e a
reconfigurao de seu significado a partir de um projeto eman-
cipador no qual o trabalhador se percebe implicado. Assim fica
ntida a tendncia de unificao da planificao e execuo do
trabalho. A percepo e controle coletivo do processo de produ-
o algo que s se concretiza a partir da ao coletiva e gradual
dos prprios trabalhadores:
Como um espao singular de produo de conhecimentos, a pro-
duo associada ganha relevncia medida que os sujeitos, ao
tentarem subverter a lgica do capital, em vez de controlar e di-
ficultar o acesso do conjunto dos trabalhadores aos segredos do
processo produtivo, promovem a articulao dos diferentes sabe-
res dos trabalhadores (Tiriba, 2001, p. 210).
142
Em busca de uma pedagogia da produo associada
Enquanto na sociedade capitalista existe uma separao en-
tre escola e trabalho, uma vez que a primeira prepara o traba-
lhador para uma ao que s se realiza a posteriori, no trabalho
associado o trabalho , ao mesmo tempo, meio e fim educativo:
Uma das suas particularidades que, diferentemente da escola,
na produo associada no necessrio eleger o mundo do tra-
balho como princpio educativo; ele princpio e, tambm, fim
educativo, fonte de produo de conhecimentos e de novas pr-
ticas sociais, fonte de produo de bens materiais e espirituais
(Tiriba, 2001, p. 210).
Nascimento (2008), em seu texto Autogesto: Economia
Solidria e Utopia, aborda a autogesto tambm sob uma pers-
pectiva pedaggica, retomando autores como Paulo Freire (e o
seu conceito de indito-vivel) e Ernst Bloch (e a ideia de utopia
concreta), alm de outros, para a construo terico-prtica da
autogesto como, ao mesmo tempo, meio e fim das lutas atuais.
Em alguma medida, o autor lida com as ressalvas colocadas para
a Economia Solidria ao reconhecer que uma utopia, por ser uto-
pia, precisa estar inscrita no real. A autogesto, enquanto ten-
dncia, no ser autogesto apenas quando plena, mas tambm
enquanto processo pedaggico. Esse processo de aprendizado, no
entanto, enfrenta algumas dificuldades e contradies. Segundo
Tiriba e Fischer (2009):
As experincias histricas de autogesto revelam que, no embate
contra a explorao e a degradao do trabalho, no suficiente
que os trabalhadores se apropriem dos meios de produo. Essas
prticas indicam haver a necessidade de articulao dos saberes
do trabalho fragmentados pelo capital e de apropriao dos ins-
trumentos terico-metodolgicos que lhes permitam compreen-
der os sentidos do trabalho e prosseguir na construo de uma
nova cultura do trabalho e de uma sociedade de novo tipo (Tiriba
e Fischer, 2009, p. 294, apud Wirth, Fraga e Novaes, 2011).
143
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
Nunca demais sublinhar que a pedagogia da autogesto
traz embutida em si um tipo de participao e engajamento do
trabalhador de uma forma, natureza e com objetivos totalmen-
te distintos da educao toyotista. A pedagogia da autogesto
conecta-se com uma perspectiva histrica bastante ampla, na
qual podemos dizer que as formas associativas de produo, ao
substiturem a competio entre os trabalhadores pela solidarie-
dade e a fragmentao pelo coletivismo, revelam um processo de
autoorga nizao que era j entendido no seu duplo aspecto de
meio e de fim. A autogesto das suas lutas revelava para os traba-
lhadores a necessidade indissocivel de autogesto da produo e
da vida social (Novaes e Faria, 2011).
Por isso a pedagogia das lutas dos trabalhadores contm
sempre uma dimenso organizativa, unificando os trabalhado-
res para a superao da explorao e do prprio assalariamento
(Tragtenberg, 1986). Na autogesto, os trabalhadores passam a
questionar o abismo dos salrios e a necessidade de sua supera-
o aquilo que Marx chamou de abolio do sistema salarial,
a necessidade de unificar as lutas sociais, superar a diviso entre
os que mandam e executam, a necessidade de rodzios para evi-
tar a burocratizao, a necessidade de controle da totalidade da
produo e da distribuio atravs do planejamento democrtico
dessa produo, alm de uma produo voltada para a satisfao
das necessidades humanas (Novaes, 2011)
11
. nesse sentido que
h uma diferena radical entre a pedagogia da autogesto e o
participacionismo toyotista, limitado pelo interesse e a estreiteza
das necessidades do capital.
Depois desta breve anlise do papel da autogesto e do tra-
balho coletivo na construo de uma sociedade para alm do ca-
11
Para o debate na Economia Solidria, ver Faria (2005). Wirth (2010) d
destaque tambm s questes de gnero nas cooperativas e associaes de
trabalhadores.
144
Em busca de uma pedagogia da produo associada
pital neste sculo XXI, vejamos agora o papel de um outro pilar
fundamental para o florescimento da pedagogia da produo as-
sociada: a educao sociotcnica para a desmercantilizao.
a educao sociotcnica para a desmercantilizao
Para os herdeiros do legado marxiano, a superao da for-
ma mercadoria sempre foi um tema seminal. Wallerstein (2002)
um dos pensadores que nos chama a ateno para esse tema,
usando o termo desmercantilizao. Vale dizer que outros pre-
ferem o termo desmercadorizao ou a expresso produo
de valores de uso.
nos anos de 1970 que aparecem os primeiros sintomas da
crise de acumulao de capital. Como resposta a esta crise, o ca-
pital principalmente o capital financeiro em sua conexo com
o modelo japons ou toyotismo deu respostas que resultaram
numa ofensiva rumo intensificao da produo de mercado-
rias (novos produtos) ou em direo a setores e campos ain-
da no sujeitos plena mercantilizao.
Uma onda de privatizaes, em especial com a eleio de go-
vernos neoliberais, elevou o ciclo da mercantilizao a um novo
patamar. Ao mesmo tempo, a utilizao de novas tecnologias e
novas formas de organizao do trabalho elevou a um novo pata-
mar a mercantilizao dos produtos e da fora de trabalho.
O avano do capital hoje to intenso que quase no sobra
mais espao para o convvio no mercantilizado. neste cenrio
de avano destrutivo do capital (Mszros, 2002) que surgem
diversos conflitos na Amrica Latina em torno da gua, das se-
mentes, da energia eltrica, do petrleo, do gs, entre outros.
Bens pblicos como a educao e a sade tambm sofreram pro-
cessos de privatizao indireta, atravs da estagnao do setor
pblico e do crescimento das vagas em faculdades particulares e
dos planos de sade privados. Para Lombardi (2006), a educao
145
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
acompanhou o processo de mercantilizao mundial e sofreu um
forte recuo. Mais precisamente:
a mercantilizao favoreceu um recuo nas conquistas sociais e,
com isso, foi sendo deixada de lado a concepo que a coloca como
um direito; gradativamente, seu lugar foi ocupado por uma mer-
cadorizao dos servios sociais. De direito do cidado, as polti-
cas sociais passaram a ser tomadas como servios ao cidado. O
entendimento que cada qual deve pagar o justo valor pelo tipo e
qualidade de educao que quer receber (Lombardi, 2006, s/n).
Nesse sentido, as lutas por uma educao para alm do
capital necessariamente devem questionar os parmetros que
orientam a produo de bens e servios na sociedade de classes:
obsolescncia planejada; diminuio da vida til de mquinas,
equipamentos e produtos; diminuio da vida til da fora de
trabalho; ausncia de uma preocupao real com a sade dos
trabalhadores e consumidores; ausncia de planejamento das ne-
cessidades humanas, materiais e imateriais etc.
12
os mtodos pedaggicos libertrios: algumas notas sobre os
complexos e a prxis pedaggica
H um vasto leque de mtodos pedaggicos libertrios: vo
desde os fundamentos da escola do trabalho, a escola itinerante,
as escolas de famlia agrcola, a educao popular, dentre in-
meros outros. Longe de querer esgot-los e classific-los, pre-
tendemos dar algumas pistas sobre as metodologias formativas
pensadas para a possibilidade de apreenso e entendimento da
realidade, de forma a podermos intervir nela. A principal contri-
buio que da tiramos a necessidade de compreender a realida-
12
Para saber mais sobre este debate, ver o artigo de Las Fraga e Renato Dag-
nino nesta coletnea e a coletnea organizada por Dagnino (2009).
146
Em busca de uma pedagogia da produo associada
de de forma dialtica, em sua totalidade, e a estreita relao entre
a teoria e a prtica social.
Devemos enfatizar tambm que esse tipo de construo,
na atualidade, se d principalmente no mbito dos movimentos
sociais que retomam a teoria e a prtica da autogesto. Por fal-
ta de espao neste trabalho, iremos nos dedicar rapidamente ao
mtodo de estudo por complexos temticos, desenvolvido pelos
pedagogos soviticos no contexto da escola nica do trabalho.
O mtodo dos complexos foi desenvolvido por Pistrak como
uma tentativa de superar a escola clssica verbalista, a fragmen-
tao e a hierarquia dos contedos decorrentes dessa prtica.
Assim, o objetivo dos complexos temticos seria treinar os edu-
candos no olhar do materialismo histrico dialtico e exercitar
a prxis, acabando com a separao entre teoria e prtica a par-
tir da relao dos complexos com o trabalho socialmente til
(Freitas , 2009). Este mtodo permite o estudo de temas atuais a
partir de todos os ngulos disciplinares, atravs de uma boa ar-
ticulao entre as disciplinas para a compreenso da realidade
em seu conjunto, gerando uma sntese totalizante.
Cada ideia central de um complexo rene as dimenses natu-
reza, trabalho e sociedade,
as quais, em conjunto, devem refletir a complexidade daquela
parte da realidade escolhida para o estudo sua dialtica e sua
atualidade, vale dizer, suas contradies e lutas , seu desenvol-
vimento enquanto natureza e enquanto sociedade, a partir do
trabalho das pessoas (Freitas, 2009, p. 36).
O estudo de complexos s tem sentido na medida em que eles
representam uma srie de elos numa nica corrente, conduzindo
compreenso da realidade atual. Dessa forma, ele s produtivo
se estiver vinculado ao trabalho real dos alunos e sua auto-or-
ganizao na atividade social prtica interna e externa escola. O
complexo um meio, acentua Pistrak, no um fim em si.
147
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
Com outros objetivos e com mtodos de outra natureza, os
marxistas tentam se guiar pelo estudo da totalidade, um mtodo
bastante prximo daquele desenhado por Pistrak et al. (2009),
pois somente atravs do estudo do capital enquanto relao so-
cial total que os trabalhadores podero transformar o sociometa-
bolismo do capital em seu conjunto, no deixando resqucios da
antiga sociedade na nova sociedade.
13
Lukcs foi um dos pensadores sociais do sculo XX que
melhor seguiram os passos de Marx e Engels no estudo do capi-
tal enquanto totalidade. Para este pensador: O que distingue,
decisivamente, o marxismo da cincia burguesa no a tese de
um predomnio dos motivos econmicos da explicao da hist-
ria; o ponto de vista da totalidade (Lukcs, 2003).
Mais precisamente, seguindo ainda as trilhas de Lukcs, na
teoria social de Marx, a totalidade, como categoria fundante da
realidade, significa:
em primeiro lugar, a unidade concreta das contradies interatuan-
tes; em segundo lugar, a relatividade sistemtica de toda totalidade,
tanto para cima como para baixo (o que quer dizer que toda tota-
lidade construda por totalidades subordinadas a ela e tambm
que, ao mesmo tempo, ela sobredeterminada por totalidades de
maior complexidade...); e, em terceiro lugar, a relatividade histrica
de toda totalidade, ou seja, que o carter-de-totalidade de toda to-
talidade dinmico, mutvel, sendo limitado a um perodo histri-
co concreto, determinado (Lukcs, 1949 apud Netto, 2009).
Experincias como os cursos financiados pelo Pronera ou
pelo MEC para a criao de Licenciaturas em Educao do Campo
(Caldart, 2009), alm de outras j existentes h certo tempo, como
a Escola Josu de Castro, em Veranpolis (RS), outras escolas esta-
13
Para saber mais sobre o debate dos complexos temticos e sua atualidade,
ver Freitas (2009) e Caldart (2009).
148
Em busca de uma pedagogia da produo associada
duais do Rio Grande do Sul ou Paran, as escolas de famlia agr-
cola em Minas Gerais, cursos universitrios e as escolas itinerantes
do MST (Camini, 2009) sendo algumas mais autnomas e outras
com muitas restries em funo do papel do Estado capitalista na
sociedade de classes , nos mostram que os complexos temticos ou
o estudo da totalidade so imprescindveis para realizar a compre-
enso da realidade e para impulsionar sua transformao radical
14
.
No poderemos aqui aprofundar este pilar decisivo para uma nova
educao, mas acreditamos que novas pesquisas devem nos mos-
trar os limites e as possibilidades desta metodologia nos movimen-
tos sociais e em algumas escolas pblicas.
a prxis pedaggica
conhecida a frase de Marx em que ele diz: os filsofos
interpretaram o mundo, preciso transform-lo. Assim, mais
que possuir uma teoria pedaggica libertria, necessria uma
prtica pedaggica transformadora, ou seja, necessrio o exer-
ccio da prxis. No contexto do trabalho associado, temos per-
cebido que o exerccio da prxis est presente de forma bastante
acentuada nos projetos de extenso universitria. A tese de dou-
torado de um dos autores (Novaes, 2010) identificou pesquisado-
res-extensionistas que fazem uma ponte muito interessante entre
teoria e prtica. Todos os pesquisadores-extensionistas analisa-
14
Em outro artigo pretendemos observar as contradies da poltica educa-
cional para os movimentos sociais no Governo Lula: a criao dos Centros
de Formao de Economia Solidria, as polticas de qualificao para a
Economia Solidria via Plano Nacional de Qualificao, os diversos cur-
sos que foram criados pelo Pronera, os Centros de Agroecologia do MST,
etc. Apenas para citar um exemplo, podemos observar que se por um lado
a criao do curso de direito para assentados na Universidade Federal de
Gois foi uma vitria, por outro lado, como os movimentos sociais no
tinham hegemonia no curso, acabaram recebendo aulas de professores
conservadores.
149
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
dos parecem tentar fundir a teoria a uma determinada prtica
de transformao social, prtica esta vinculada luta dos movi-
mentos sociais, crtica da propriedade dos meios de produo,
ao papel da autogesto, alm da crtica assistncia tcnica,
tecnologia convencional e sobre a necessidade de reprojetamento
e construo de uma tecnologia alternativa (Dagnino, 2009).
Sem cair no socialismo de ctedra, e no praticismo sem
um norte definido, estes intelectuais mdios parecem retomar
dialeticamente a necessidade de realimentao entre a teoria e
prtica vinculada a uma transformao social mais ampla, dan-
do inteno extenso universitria.
Marcelo Doti (2009), ao refletir sobre a separao entre
teo ria e prtica no marxismo do sculo XX, observa que se trata
de um falso dilema, uma vez que os revolucionrios s podem
imiscuir-se na realidade sabendo suas cadeias de mediaes e de-
terminaes para entenderem os pontos nucleares, as determina-
es centrais para proceder transformao revolucionria do
real. Trata-se de entender as frinchas, as rupturas e possibilida-
des que a realidade social nos fornece para a transformao. Esse
complexo, que complexo para a revoluo, s se d pela profun-
da articulao entre prtica e teoria. No so, portanto, bipola-
ridades, mas sim polos de uma mesma estrutura do prprio real.
A diferena ser conduzido pela realidade ou ento conduzi-la
15
.
Para isso, necessrio o mais alto grau de conscincia sobre a
mesma para evidenciar a importncia da teoria como momen-
to de uma dialtica essencial para o entendimento da realidade
e, ao mesmo tempo, ao sobre a mesma.
Por esse motivo, ele critica o praticismo, pois este nos leva
a um nada indeterminado e sem sentido. Tal como a vida indi-
vidual sem sentido um mergulho no irracional, o praticismo
15
Ou como diz o cantor Paulinho da Viola: no sou eu quem me navega,
quem me navega o mar.
150
Em busca de uma pedagogia da produo associada
um fazer pelo fazer que pode ser fazer mal. Avaliar teorica-
mente o desenvolvimento exige, ento, entender as classes que
o conduzem e como o fazem. Segundo Engels, o Renascimento,
perodo da epopeia burguesa, no separava a teoria da pr-
tica. Para ele, o Renascimento:
foi a maior revoluo progressista que a humanidade conhecera
at aquele tempo; uma poca que necessitou de gigantes e engen-
drou gigantes. Gigantes pela fora do pensamento, pelas paixes e
pelo carter, pela universalidade e pela doutrina. Os homens que
fundaram a moderna denominao burguesa foram tudo, menos
burgueses limitados. Os heris daquele tempo, na realidade, ainda
no haviam sido esmagados pela diviso do trabalho, cujos efeitos
mutiladores, que tornam o homem unilateral, sentimos to fre-
quentemente nos seus sucessores. O que particularmente os distin-
gue que todos viviam e atuavam nos movimentos do seu tempo,
na luta prtica, tomando posio ativa e participando das conten-
das, quer com a palavra escrita ou falada, quer com a espada, e s
vezes ambas. Da aquela inteireza e fora de carter que faz com
que tenham sido homens completos. Os eruditos de biblioteca re-
presentam excees: gente de segunda ou de terceira ordem ou fi-
listeus que no querem queimar os dedos (Engels, 2010, p. 23).
Do ponto de vista dos alunos universitrios, muitos extensio-
nistas esto queimando os dedos. Um exemplo disso so as Incu-
badoras Universitrias de Cooperativas Populares (ITCPs). As ativi-
dades de extenso desenvolvidas por uma parcela das ITCPs junto
aos movimentos sociais parecem vir de uma recusa a uma vida libe-
ral, venda de sua fora de trabalho a uma corporao nacional ou
estrangeira. Em outras palavras, a recusa ao trabalho alienado.
Trata-se de uma espcie de refgio, como no filme Socie-
dade dos poetas mortos. Diante da mutilao promovida pela
universidade, diante do esquartejamento do saber, diante de uma
vida sem sentido social, as Incubadoras de Cooperativas podem
estar treinando esses alunos para uma atuao pblica e cons-
151
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
ciente na realidade social. No so poucos os depoimentos de
alunos que entram engenheiros e saem engenheiros-pedagogos,
entram economistas e saem economistas-educadores, entram pe-
dagogos e saem pedagogos-engenheiros etc.
Do ponto de vista dos engenheiros, vale a pena citar o
aprendizado de Flvio Henriques, quando se defrontou com de-
safios na Cooparj. Nas suas palavras:
(...) no estudo de caso, que se transformou em um projeto de ex-
tenso universitria, pude observar a importncia para alunos
de graduao de uma rea tcnica, que pouco contato tm com
quem de fato necessita de suas contribuies, de estarem prxi-
mos a um empreendimento de autogesto. Ao mesmo tempo em
que puderam contribuir para a (auto)gesto do empreendimento,
tiveram um significativo aprendizado com um caso diferente dos
que estavam acostumados a estudar (Henriques, 2011).
Inmeros seminrios poderiam surgir tanto para a troca de
conhecimento entre as equipes que trabalham com os movimen-
tos sociais, entre os prprios movimentos sociais e entre os mo-
vimentos sociais e as equipes. No ano de 2009, durante o Semi-
nrio Nacional de Assistncia Tcnica realizado pelo Centro de
Formao Regional e Nacional em Economia Solidria, surgiu a
demanda de troca de saberes entre os cooperados de cooperativas
e associaes diferentes.
No ano de 2007, a Unisol promoveu um evento em So
Bernardo, no qual um dos objetivos era a troca de conheci-
mento entre os trabalhadores da Uniforja, da Cooperativa dos
Trabalhadores Metalrgicos de Canoas (CTMC) e entre outras
FRs. A Associao Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
Autoges to (Anteag), nos anos 1990, promoveu algo parecido.
Evidentemente que iniciativas como essas so bem-vindas,
mas, para que as mesmas ganhem um sentido mais profundo, re-
quer-se um tipo de formao completamente distinto, que tenha
152
Em busca de uma pedagogia da produo associada
como objetivo trabalhar nos movimentos sociais ou em outras
funes pblicas (Fraga, 2007; Fraga, Novaes e Dagnino, 2010).
J foram ensaiadas algumas propostas nesse sentido, mas,
por motivos que no cabem neste artigo, todas elas no vinga-
ram. Por parte da Unicamp, a tentativa de construo do Institu-
to Nacional de Incluso Social esboou uma proposta para levan-
tar demandas tecnolgicas dos movimentos sociais, bem como
ajudar na resoluo de problemas tecnolgicos j identificados
por esses movimentos. A UFABC, atravs do professor Brescia-
ni, tambm esboou uma parceria com vrias universidades para
atender s demandas da Economia Solidria.
No ano de 2007, o Ministrio do Desenvolvimento Agr-
rio criou, junto com algumas universidades pblicas, o curso
de especializao Desenvolvimento do Campo, uma espcie
de residncia nos assentamentos, casada com uma pesquisa que
culmina na elaborao de monografias.
Dentre inmeros resultados positivos e algumas contradi-
es, a residncia agrria e o curso de especializao vm per-
mitindo o encontro de tcnicos com um perfil parecido e de
professores que comungam na mesma igreja. Evidentemente
que h disputas pela conformao do curso, mas prevalece a uni-
dade. Alm disso, o curso sinaliza tambm para a formao de
um tcnico crtico.
No entanto, preciso reconhecer que as instituies que re-
presentam inmeros movimentos sociais, entre eles os de Econo-
mia Solidria, no tm uma viso estratgica do papel do Com-
plexo Pblico de Ensino Superior e Pesquisa (CPESP). Quando o
tema entra em pauta nos movimentos sociais, este aparece muito
mais como necessidade de assistncia tcnica, sem que se deba-
ta com profundidade qual tipo de assistncia tcnica e que tipo de
profissional so necessrios para os movimentos sociais, que tipo
de transformao deveria ocorrer no CPESP para atender suas
demandas e na tecnologia j materializada.
153
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
a formao de lutadores
A formao de lutadores, guerreiros e guerreiras foi um dos
elementos decisivos para a construo da pedagogia da Escola-
Comuna (Pistrak et al., 2009) na URSS dos anos 1920; no
s para desconstruir a sociedade de classes, mas para construir
uma sociedade para alm do capital. Mais recentemente, depois
da grande ruptura histrica que levou os movimentos sociais
ao cho (1964-1985), o Movimento Sem Terra passa a ser um
dos movimentos sociais que incorpora a necessidade de escola e
de o prprio movimento formar lutadores para a construo de
uma nova sociedade. Acreditamos que este pilar decisivo para
a construo de uma sociedade para alm do capital, no entan-
to, poderemos apenas delinear alguns dos seus elementos neste
artigo.
No acreditamos que escolas que formam seres apticos,
bem comportados para as necessidades do capital, que obedecem
aos ditames da ordem e progresso, do fetiche do consumo, da
responsabilidade social ou da educao restrita s necessidades
terico-prticas do capital conseguiro fazer brotar a sociedade
sem classes sociais, sem explorao e que supere o trabalho alie-
nado. No este o caminho que vislumbramos.
Tambm no somos a favor da educao para a luta sem
rumo definido, quando os movimentos sociais saem dando ca-
beada nos problemas sociais que encontram por a. Neste senti-
do, cabe uma articulao entre formao de educandos lutadores
e o papel da teoria como guia da ao, para que os movimentos
sociais no se tornem meros movimentos que lutam somente por
lutar, sem propsito algum, nem se tornem movimentos prag-
mticos puros e simples.
Pablo Neruda (2003), em seu texto Educao do cacique,
captou muito bem a necessidade deste pilar para uma educao
de novo tipo. Nas suas palavras:
154
Em busca de uma pedagogia da produo associada
Lautaro era uma flecha delgada. Elstico e azul foi o nosso pai.
Foi sua primeira idade s silncio. Sua adolescncia foi dom-
nio. Sua juventude foi um vento dirigido. Preparou-se como uma
longa lana. Acostumou os ps nas cachoeiras. Educou a cabea
nos espinhos. Executou as provas do guanaco. Viveu pelos covis
da neve. Espreitou as guias comendo. Arranhou os segredos do
penhasco. Entreteve as ptalas do fogo. Amamentou-se de pri-
mavera fria. Queimou-se nas gargantas infernais. Foi caador
entre as aves cruis. Tingiram-se de vitrias as suas mos. Leu
as agresses da noite. Amparou o desmoronamento do enxofre.
Se fez velocidade, luz repentina. Tomou as vagarezas do outono.
Trabalhou nas guaridas invisveis. Dormiu sobre os lenis da
nevasca. Igualou-se conduta das flechas. Bebeu o sangue agres-
te dos caminhos. Arrebatou o tesouro das ondas. Se fez ameaa
como um deus sombrio. Comeu em cada cozinha de seu povo.
Aprendeu o alfabeto do relmpago. Farejou as cinzas espalhadas.
Envolveu o corao de peles negras. Decifrou o fio espiral do
fumo. Construiu-se de fibras taciturnas. Azeitou-se como a alma
da azeitona. Fez-se cristal de transparncia dura. Estudou para
vento furaco. Combateu-se at apagar o sangue. E s ento foi
digno de seu povo.
consideraes finais
Marx disse certa vez que os homens fazem histria, mas
no a fazem como querem, em circunstncias por eles escolhi-
das, mas como podem, diante dos limites colocados pelas lutas
das outras geraes. Para o nosso caso, os trabalhadores e traba-
lhadoras de cooperativas e associaes fazem histria, mas, em
alguma medida, presos na histria, dentro da histria. No
acreditamos que o crescimento do trabalho associado se dar
pura e simplesmente atravs de sua expanso na economia, como
se a classe dominante, os monoplios e oligoplios assistissem
passivamente disseminao das cooperativas e associaes de
trabalhadores. Para ns, a crise estrutural do capital no conduz
a classe dominante a um suicdio coletivo, sem resistir sob todas
155
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
as formas possveis manuteno do seu poder e privilgios na
sociedade de classes.
Seguramente os pilares da pedagogia da produo associa-
da aqui esboados no do conta dos desafios colocados pela
relao trabalho e educao, mas so elementos fundamentais
para a retomada do debate e da prtica da autogesto possvel e
necessria no sculo XXI.
referncias bibliogrficas
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmao e a
negao do trabalho. So Paulo: Boitempo, 2001.
(org.). Riqueza e Misria do Trabalho no Brasil. So Pau-
lo: Boitempo Editorial, 2007.
BAUDELOT, C.; ESTABLET, R. La escuela capitalista. Mxico: Siglo
Veintiuno, 1990.
BEHRING, E.; BOSCHETTI, I. Poltica social: fundamentos e hist-
ria. So Paulo: Cortez, 2006.
BERNARDO, J. A autogesto da sociedade prepara-se na autogesto
das lutas. Revista Pi Piou, 2006.
BRUNO, L. Poder e administrao no capitalismo contemporneo. In:
OLIVEIRA, D. A. (org.). Gesto democrtica da educao. Pe-
trpolis: Vozes, 1997.
CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra. So Paulo : Ex-
presso Popular, 2004.
(org.). Caminhos para a transformao escolar. So Pau-
lo: Expresso Popular, 2009.
CAMIMI, I. Escola Itinerante na fronteira de uma escola nova. So
Paulo: Expresso Popular, 2009.
CASTRO, M. P. A viso depende do cristal pelo qual se olha? Os dife-
rentes olhares sobre a Economia Solidria. In: III Congresso da
Rede Universitria de Incubadoras Tecnolgicas de Cooperativas
Populares e I Simpsio Internacional de Extenso Universitria.
Anais... Porto Alegre, UFGRS, 2011.
CHRISTOFFOLI, P. I. O desenvolvimento de cooperativas de pro-
duo coletiva de trabalhadores rurais no capitalismo: limites
e possibilidades. Curitiba, Dissertao de Mestrado, UFPR,
2000.
156
Em busca de uma pedagogia da produo associada
COMENIUS, I. Didtica Magna. Fundao Calouste Gulbenkia, 2001.
Disponvel em: http://www.culturabrasil.org/didaticamagna/dida-
ticamagna-comenius.htm. Acesso em: 25 de maro de 2011.
DAGNINO, R. Tecnologia Social: ferramenta para a construo de
uma outra sociedade. Campinas: Komedi, 2009.
DAL RI, N. M.; VIEITEZ, C. G. A educao do movimento dos Sem-
Terra. Instituto de Educao Josu de Castro. Educao e Socie-
dade, vol. 25, n. 89, set./dez. 2004, Campinas, p. 1.379-1.402.
. Educao Democrtica e Trabalho Associado no Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e nas Fbricas de
Autogesto. So Paulo: cone-Fapesp, 2008.
DOTI, M. M. Pequeno texto aberto aos camaradas. Campinas, Im-
presso, outubro de 2009.
ENGELS, F. Ensaios sobre literatura. In: MARX, K.; ENGELS, F.
Cultura, arte e literatura: textos escolhidos. So Paulo: Expres-
so Popular, 2010.
FARIA, Maurcio S. de. Autogesto, Cooperativa, Economia Solid-
ria: avatares do trabalho e do capital. Tese (doutorado) Sociolo-
gia Poltica, UFSC, Florianpolis, 2005.
FOLHA DE SO PAULO. Nunca vi tanto garom que possui douto-
rado gerao nem estuda nem trabalha toma as ruas. Caderno
Mundo, 06/06/2011.
FRAGA, L. O curso de Graduao da Faculdade de Engenharia de
Alimentos da UNICAMP: uma anlise a partir da Educao
em Cincia, Tecnologia e Sociedade. Dissertao (mestrado)
Departamento de Poltica Cientfica e Tecnolgica, Unicamp,
2007.
; NOVAES, H. T.; DAGNINO, R. Educao em Cincia,
Tecnologia e Sociedade para as engenharias: obstculos e pro-
postas. In: DAGNINO, R. (org.) Estudos Sociais da Cincia e
Tecnologia e Poltica de Cincia e Tecnologia abordagens alter-
nativas para uma nova Amrica Latina. Joo Pessoa: EDUEPB,
2010.
FREINET, C. A educao do trabalho. So Paulo: Martins Fontes ,
1998.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17 edio. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1987.
FREITAS, L. C. A luta por uma pedagogia do meio: revisitando o con-
ceito. In: PISTRAK, M. M. A Escola-Comuna. So Paulo: Ex-
presso Popular, 2009.
157
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
HARVEY, D. Condio ps-moderna: uma pesquisa sobre as origens
da mudana cultural. So Paulo: Loyola, 2004.
HENRIQUES, F. C. O Engenheiro na Assessoria a Empreendimentos
de Autogesto. In: SCHMIDT, C.; NOVAES, H. T. (orgs.). Eco-
nomia Solidria e Transformao Social: rumo a uma sociedade
para alm do capital? Porto Alegre: Ed. da UFRGS, no prelo.
KRUPSKAYA, N. K. Prefcio da edio russa. In: PISTRAK, M. M.
(org.). A escola-comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
KUENZER, A. Z. Pedagogia da fbrica: as relaes de produo e a educa-
o do trabalhador. So Paulo: Cortez: Autores Associados, 1985.
. As mudanas no mundo do trabalho e a educao: novos
desafios para a gesto. In: FERREIRA, N. S. C. Gesto demo-
crtica da educao: atuais tendncias, novos desafios. So Pau-
lo: Cortez, 1998, p. 33-58.
LOMBARDI, J. C. O velho discurso que rege a Histria educao bra-
sileira. (Entrevista) Jornal da Unicamp, ed. 334, 21 a 27 agosto
de 2006.
LUKCS, G. Interveno no Congresso de Filsofos Marxistas de Mi-
lo (Palestra). Milo, 1949.
. Histria e conscincia de classe. So Paulo: Martins Fon-
tes, 2003.
. Prolegmenos para uma ontologia do ser social. So
Paulo: Boitempo editorial, 2010.
MSZROS, I. Para alm do capital. So Paulo: Boitempo, 2002.
. O Poder da ideologia. So Paulo: Boitempo, 2004.
. Educao para alm do capital. So Paulo: Boitempo ,
2006.
MONTAIGNE, M. Ensaios. So Paulo: Abril, 1972.
NASCIMENTO, C. Autogesto: Economia Solidria e Utopia. Revista
eletrnica Otra Economia, 2008, p. 27-40.
NERUDA, P. Canto geral. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 2003.
NETTO, J. P. Introduo. In: MARX, K. Misria da Filosofia res-
posta Filosofia da Misria, do sr. Proudhon. So Paulo: Expres-
so Popular, 2009.
NOVAES, H. T. O fetiche da tecnologia: a experincia das fbricas
recuperadas. So Paulo: Expresso Popular, 2007.
. A Autogesto como Magnfica Escola: notas sobre a edu-
cao no trabalho associado. In: BATISTA, E. L.; NOVAES , H. T.
(orgs.). Educao e reproduo social: as contradies do capital no
sculo XXI. Bauru: Canal 6/Praxis, 2011.
158
Em busca de uma pedagogia da produo associada
; FARIA, M. S. Para onde vo as fbricas recuperadas?
In: NOVAES, H. T. (org.). O retorno do caracol sua concha:
alienao e desalienao em associaes de trabalhadores. So
Paulo: Expresso Popular, 2011.
PAGOTTO, C. Ajustes e rupturas cooperativismo e lutas sociais no
Brasil contemporneo. Dissertao de Mestrado, Universidade
Catlica de So Paulo, So Paulo, 2003.
PISTRAK, M. M. Fundamentos da Escola do Trabalho. So Paulo:
Expresso Popular, 2001.
(org.). A Escola-Comuna. So Paulo: Expresso Popular,
2009.
ROUSSEAU, J. J. Livro Primeiro. In: Emlio ou da educao. So Pau-
lo: Martins Fontes, 2004.
SAVIANI, D. Histria das ideias pedaggicas no Brasil. Campinas:
Autores Associados, 2007.
SILVA, Felipe. A Fbrica como Agncia Educativa. Araraquara: Edito-
ra Cultura Acadmica-Unesp, 2005.
SILVA, Marineide M. O mosaico do desemprego. Tese (doutorado)
IFCH, Unicamp, Campinas, 2009.
SMITH, A. A riqueza das naes: investigaes sobre sua natureza e
suas causas. So Paulo: Nova Cultural, 1985.
TIRIBA, L. Pedagogia(s) da produo associada. Iju: Ed. da Uniju,
2001.
; FISCHER, M. C. B. Saberes do trabalho associado.
In: CATTANI, A. D.; LAVILLE, J. L.; GAIGER, L. I.; HES-
PANHA, P. Dicionrio Internacional da Outra Economia. So
Paulo/Coimbra: Almedina Brasil Ltda./Edies Almedina S. A.,
2009, p. 293-298.
; FISCHER, M. C. B. Saberes do trabalho associado. In:
CATTANI, A. D.; LAVILLE, J. L.; GAIGER, L. I. e HESPA-
NHA, P. Dicionrio Internacional da Outra Economia. Coim-
bra: Editora Almedina, 2009, p. 293-298.
TRAGTENBERG, M. Reflexes sobre o socialismo. So Paulo: Mo-
derna, 1986.
. Sobre educao, poltica e sindicalismo. 3 edio. So
Paulo: Ed. Unesp, 2004.
. Administrao, poder e ideologia. 3 edio. So Paulo:
Editora da Unesp, 2005.
VIEITEZ, C.; DAL RI, N. Trabalho associado. Rio de Janeiro: DP&A,
2001.
159
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
WALLERSTEIN, I. Uma poltica de esquerda para o sculo XXI ? ou
teoria e prxis novamente. In: LOUREIRO, I.; LEITE, J.C.; CE-
VASCO, M. (orgs.). O esprito de Porto Alegre. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2002.
WIRTH, I. G. As relaes de gnero em cooperativas populares do
segmento da reciclagem: um caminho para a construo da au-
togesto? Dissertao (mestrado) FE, Unicamp, Campinas,
2010.
; FRAGA, L.; NOVAES, H. T. Educao, Trabalho e Au-
togesto: limites e possibilidades da Economia Solidria. In: BA-
TISTA, E. L.; NOVAES, H. T. (orgs.) Educao e reproduo
social: as contradies do capital no sculo XXI. Bauru: Canal
6/Praxis, 2011.
anexo i
indignados unidos
Folha de S. Paulo, domingo, 5 de junho de 2011.
Espanha
Nunca vi tanto garom que possui doutorado
Gerao nem estuda, nem trabalha toma ruas
Luisa Belchior, de Madri
Rodrigo Russo, enviado especial a Barcelona
Uma faculdade, dois mestrados, trs idiomas, cinco anos
de experincia e um estgio de 600 euros.
Os dizeres na placa que a cientista ambiental Lilian Garca,
25, segurava em uma das manifestaes que tomaram as ruas de
Madri na semana passada eram fictcios. Esse estgio foi h trs
anos. Desde ento estou desempregada.
Como ela esto 45% da populao jovem espanhola, em
torno de 700 mil pessoas.
160
Em busca de uma pedagogia da produo associada
Com os protestos e acampamentos nas praas do pas, reve-
laram ao mundo uma Espanha que j no consegue dar conta de
inseri-los no mercado de trabalho.
O resultado que os jovens que podem deixam o pas em
busca de empregos em vizinhos europeus em 2010, 166 mil emi-
graram.
Chamada de gerao ni-ni ni estudia, ni trabaja , este
quase milho de espanhis tem a melhor formao na histria do
pas e um dos piores cenrios de emprego.
Javier Garcia, 28, veio dos EUA participar dos protestos.
Eu odeio ter que estar longe do meu pas para poder trabalhar.
Tenho muitos amigos aqui sem emprego. Nossa gerao a mais
bem preparada da histria. Nunca vimos tantos garons com
doutorado e trs idiomas.
Em Barcelona, o movimento dos indignados ganhou for-
a aps o dia 27 de maio, quando, a pretexto de limpar a praa
Catalunha, onde os jovens acampavam, policiais agrediram os
manifestantes, deixando 121 pessoas feridas.
A agilidade com que os acampados divulgaram pelas redes
sociais fotos e vdeos de policiais agindo violentamente foi de-
terminante para que a praa fosse novamente liberada para os
protestos.
Em uma das entradas da praa, uma faixa avisa aos tran-
seuntes: Estamos construindo um mundo melhor, desculpem os
transtornos.
Estvamos anestesiados, cansados de polticos, diz Judith
Casas, 33.
J para o estudante de cincias ambientais Raul Sanchez,
25, que trabalha em um call center e garom aos finais de se-
mana, o movimento um meio de pedir outro modelo para em-
pregos: No queremos mais trabalhar s com turismo ou cons-
truo, desabafa. Sua renda mensal de 1.000.
161
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
Os jovens tm inspirao na praa egpcia Tahrir, onde protes-
tos levaram queda da ditadura, e na populao da Islndia, que
em referendos rejeitou o pagamento de dvidas externas do pas.
* * *
Folha de S. Paulo, domingo, 5 de junho de 2011.
Portugal
Sou da gerao sem remunerao, cantam jovens
Vaguinaldo Marinheiro
Enviado especial a Lisboa
No dia 4 de fevereiro, quatro portugueses entre 25 e 28 anos
conversavam num caf de Lisboa sobre como era difcil a vida
dos jovens desempregados ou com emprego precrio no pas.
Um ms e meio depois (12 de maro), um protesto convo-
cado por eles reuniu 200 mil pessoas nas ruas de Lisboa e outras
300 mil espalhadas pelo pas.
O segredo do sucesso do movimento da gerao rasca
(em apuros) mais uma vez as redes sociais.
As redes sociais so uma marca desse nosso tempo. Elas mos-
tram que possvel ter manifestao poltica margem dos partidos,
dos sindicatos, diz Paula Gil, 28, integrante do grupo original.
Por um lado, ficamos impressionados com a velocidade.
Por outro, no, porque ns e nossos amigos vivamos a mesma
situao.
Paula formada e tem mestrado em Relaes Internacio-
nais, trabalha desde os 18, mas nunca teve um emprego formal,
com direitos.
Essa a situao de Portugal hoje. Metade da populao
economicamente ativa do pas est desempregada ou em trabalho
precrio.
162
Em busca de uma pedagogia da produo associada
Paula nega que o movimento tenha sido inspirado pela Pri-
mavera rabe.
Eles lutavam por liberdade e democracia, contra uma dita-
dura. Ns temos democracia, apenas queremos exerc-la.
Na conversa do bar, ela e os amigos comentavam as msi-
cas da banda Deolinda, um grupo de fado moderno.
Uma delas, Que Parva que Sou, parece um hino da gera-
o rasca.
Diz: Sou da gerao sem remunerao/ e no me incomoda
esta condio./ Que parva que eu sou!/ Porque isto est mal e vai
continuar,/ j uma sorte eu poder estagiar./ Que parva que eu
sou!/ E fico a pensar, que mundo to parvo/ onde para ser escra-
vo preciso estudar.
Depois do 12 de maro, o grupo ganhou voz. Hoje, recolhe
as 35 mil assinaturas necessrias para apresentar um projeto de
lei que quer criar regras mais duras para o trabalho temporrio.
Segundo Paula, uns poucos continuam acampados no Porto
e em Coimbra.
Em Lisboa, h apenas assembleias populares, quando as
pessoas se renem nas ruas para discutir os problemas do pas.
* * *
Folha de S. Paulo, domingo, 5 de junho de 2011.
Grcia
As pessoas esto fartas, isso, diz manifestante
Protestos em Atenas so antipacote do FMI
Carolina Vila-Nova
Em Berlim
O grego Aryiris Panagopoulos desembarcou anteontem na
Espanha com um objetivo: combinar com os colegas espanhis
163
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
um protestao simultneo para hoje nas emblemticas praas
do Sol, de Madri, e Syntagma (da Constituio), de Atenas.
Depois de episdios violentos que culminaram na morte de
manifestantes h cerca de um ano, os gregos andavam quietos.
Precisaram de um empurrozinho dos espanhis e de ru-
mores de novas medidas econmicas no pas para retomarem, no
ltimo dia 25, os protestos na capital.
Desde ento, grupos distintos ficam acampados em tendas
na praa. Eles se chamam, como os espanhis, de indignados,
e so um movimento sem lderes definidos ou ligao com grupos
polticos tradicionais.
So jovens, so estudantes, so aposentados, funcionrios
pblicos. No tem isso de idade nem de setores. As pessoas esto
fartas, isso, explica o grego de 48 anos.
Eu diria que trs quartos da populao esto descontentes
com a atual situao no pas, especialmente com o acordo com o
FMI, afirma o jornalista grego Nick Malkoutzis, editor-adjunto
da verso em ingls do jornal Kathimerini.
Os protestos no tm um tema determinante, mas giram em
torno da rejeio ao acordo fechado pelo pas com o FMI no ano
passado, s medidas de austeridade impostas pelo governo para
atender a esse acordo e a uma classe poltica considerada corrup-
ta e desvinculada da populao.
Como nos demais casos, as redes sociais so um meio im-
portante de convocao da populao e de articulao com gru-
pos em outros pases. Blogs, comunidades no Facebook e twittei-
ros tentam quebrar a barreira da lngua para os de fora.
Atenas muito pequena, todos se conhecem e muito se
espalha no boca a boca. Mas, claro, usamos muito a internet. E
felizmente a mdia na Grcia tem bastante autonomia, diz Pa-
nagopoulos.
Malkoutzis remete Grcia Antiga para descrever como se
organizam os distintos grupos na Syntagma.
164
Em busca de uma pedagogia da produo associada
H a linha de frente, que fica diante do Parlamento e da
polcia. Atrs deles, no acampamento, como uma verso mo-
derna da gora [praa na Grcia antiga]. Pessoas em grandes ou
pequenos grupos, discutindo, tentando trabalhar em temas co-
muns ou conversando sobre quais deviam ser os rumos do pro-
testo. Um pega o microfone, fala e passa adiante. Um experimen-
to interessante.
* * *
Folha de S. Paulo, domingo, 5 de junho de 2011.
Para que votar?, indagam portugueses
Pas em crise econmica vai s urnas hoje com grande apa-
tia; qualquer que seja resultado, FMI dar as cartas
Opositor de direita favorito para vencer eleio, convoca-
da aps governo ter falhado ao aprovar pacote fiscal
Vaguinaldo Marinheiro
Enviado especial a Lisboa
Os jornais e as TVs insistem em dizer que a eleio por-
tuguesa que acontece hoje a mais acirrada dos ltimos anos.
Mas o que se v nas ruas apatia e desesperana com relao ao
futuro.
Sero escolhidos os 230 deputados da Assembleia Nacio-
nal. O partido que obtiver mais cadeiras indica o novo primeiro-
ministro, que ir administrar um pas em recesso, com desem-
prego de 12,6% e dvida pblica equivalente a 93% do PIB, cerca
de 160 bilhes (R$ 368 bi).
Nos bares, nas universidades, nos shoppings, o que se ouve
a mesma resposta quando o assunto eleio.
Para que votar? O pas est ruim e continuar assim pelo
menos nos prximos dois anos. Qualquer que seja o governo, ir
165
Henrique T. Novaes | Mariana P. Castro
apenas cumprir o acordo com o Fundo Monetrio Internacional,
que prev mais austeridade. S espero que no acontea com a
gente o mesmo que se passa na Grcia, em que as medidas do
FMI s pioram a situao, afirma Henrique Simo, 28, que pas-
sou dois anos desempregado e hoje faz mestrado em economia e
vive de bolsa de estudo.
Como ele, muitas pessoas no devem votar hoje.
H projees de 40% de absteno, mesmo ndice registra-
do nas ltimas eleies legislativas, em 2009.
A insatisfao que os portugueses tm no gera partici-
pao, mas alienao, afirma Marina Costa Lobo, doutora em
cincia poltica da Universidade de Lisboa.
O socilogo Pedro Magalhes concorda. O portugus se
sente distante do poder. Isso explica a absteno elevada e a apa-
tia, diz.
A eleio de hoje fruto de uma crise poltica gerada por
problemas econmicos.
Portugal tem uma dvida crescente, e os mercados comea-
ram a exigir juros cada vez mais altos para emprestar ao pas.
Em maro, o governo do socialista Jos Scrates no conse-
guiu aprovar no Parlamento seu quarto pacote de austeridade.
Com isso, Scrates renunciou e foram convocadas eleies
antecipadas.
Ele espera uma vitria de seu partido para continuar no poder.
Mas as ltimas pesquisas colocam o PSD (Partido Social-Democra-
ta) frente, com intenes de voto que variam de 34,4% a 38,5%.
O PS aparece com, em mdia, 5 pontos percentuais a menos.
O lder do PSD, Pedro Passos Coelho, pregou o voto til.
Afirmou que Portugal precisa de um governo com maioria abso-
luta no Parlamento para conseguir implantar as medidas neces-
srias para enfrentar a crise.
So medidas acordadas com o FMI e a Unio Europeia em
troca de um emprstimo de 78 bilhes.
166
Em busca de uma pedagogia da produo associada
Entre elas esto cortes de gastos pblicos e privatizaes.
Devem ser vendidas empresas como TAP (area), o Metr de Lis-
boa e do Porto, o sistema ferrovirio e a administradora dos ae-
roportos.
Irritao e Buzinao
Apesar da aparente resignao, ao menos anteontem, lti-
mo dia da campanha nas ruas, o lisboeta colocou para fora sua
irritao.
O PS e o PSD fizeram arruadas (como os portugueses cha-
mam as passeatas) em horrios alternados pelo bairro do Chia-
do, o que complicou ainda mais o trnsito nas estreitas ruas da
regio.
Os militantes, aos gritos, tentavam sem sucesso se sobrepor
s buzinas dos motoristas impacientes.
No mesmo dia, o pas enfrentou mais uma das greves no
sistema ferrovirio.
Com pouco dinheiro e sem trens, tudo bem. Ficar parado
sob um sol de quase 30 graus foi demais.
parte 2
fundamentos da Gesto pblica
169
algumas notas sobre a concepo marxista do
estado capitalista no sculo XX
Henrique T. Novaes
introduo
Este artigo pretende fazer uma breve reviso bibliogrfica
sobre as correntes do marxismo que interpretaram as mudanas
e permanncias no Estado capitalista no sculo XX. Optamos
por confeccionar um artigo de maior nvel de abstrao e bastan-
te sinttico, sem nos preocuparmos em aprofundar os temas aqui
abordados.
Este texto perde seu sentido caso no se articule as ideias
aqui desenvolvidas com os outros artigos desta coletnea, dedi-
cados: a) ao processo de mundializao do capital e o aumento
da pobreza no final do sculo XX; b) ao processo de construo
e destruio parcial ou completa do Estado do bem-estar social
na Europa num contexto de regresso histrica; c) particulari-
dade da formao da sociedade brasileira e a especificidade do
Estado Brasileiro, principalmente no que se refere questo dos
dirigentes pblicos e na organizao do trabalho nas fbricas; d)
os conflitos no campo da educao, especialmente da educao
profissional no sculo XX; e) o aumento do desemprego e subem-
prego em escala mundial a partir dos anos 1970; f) as propostas
170
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
de construo da autogesto e desconstruo do Estado capita-
lista numa possvel e necessria transio para alm do capital,
dentro e fora do Estado.
Partimos da teoria de Marx esboada na Crtica da filo-
sofia do direito de Hegel que surgiu para contrapor e criticar a
viso de que o Estado representa os interesses da comunidade
(Marx, 2005). Para ns, o fetiche do Estado reforado justa-
mente porque a classe dirigente num determinado momento
histrico tem de exercer o poder em seu prprio interesse de
classe, mas camufla suas aes como sendo para o bem de to-
dos, para a nao, para o bem-estar do povo.
No so poucos os funcionrios pblicos que se apresentam
como funcionrios da sociedade. Isso nos permite dizer que o
Estado tem que assumir uma aparncia independente, tornando-
se uma espcie de poder aliengena. Para Miliband (1972), tanto
a classe capitalista como os trabalhadores tm geralmente enfren-
tado o Estado como entidade separada da sociedade de classes,
reforando o fetiche do Estado.
Por outro lado, para Przeworski (1989), Faleiros (1980)
alm de Behring e Boschetti (2006), o Estado no sculo XX no
respondeu invariavelmente aos requisitos da produo capitalista:
a atividade das instituies e as prprias instituies so um re-
sultado contnuo dos conflitos sociais. Sendo assim, deve-se ana-
lisar o Estado sob circunstncias histricas concretas e observar
como e por que grupos especficos, classes ou fraes de classes
entram em conflito acerca de questes especficas. O resultado
destes conflitos uma determinada organizao e um conjunto
de polticas estatais. Ianni (1989) acredita que a luta de classes
capaz de imprimir suas marcas no Estado e que a dinmica da
sociedade reflete na configurao do Estado. Para ele:
A anlise do Estado uma forma de conhecer a sociedade. Se ver-
dade que a sociedade funda o Estado, tambm inegvel que o Es-
171
Henrique T. Novaes
tado constitutivo daquela. As foras sociais que predominam na
sociedade, em dada poca, podem no s influenciar a organizao
do Estado como incutir-lhe tendncias que influenciam o jogo das
foras sociais e o conjunto da sociedade. claro que o Estado no
pode ser organizado seno em conformidade com as tendncias da
sociedade, mas pode ser levado a privilegiar uma ou outra direo,
conforme os desgnios dos que detm o poder (Ianni, 1989).
H pouqussimos aspectos da produo e do consumo que
no esto profundamente afetados, direta ou indiretamente, por
polticas do Estado. No entanto, no seria correto afirmar que o
Estado apenas recentemente se tornou agente central para o fun-
cionamento da sociedade capitalista. Ele sempre esteve presente,
somente suas formas e modos de funcionamento mudaram con-
forme o capitalismo amadurecia (Harvey, 2005).
Para traar algumas tendncias e contratendncias na con-
figurao do Estado capitalista no sculo XX, dividimos o arti-
go em oito sees. A primeira delas tece algumas notas sobre a
teoria geral do Estado. Em seguida, abordamos a relao entre
capital, Estado e trabalho alienado. Na terceira seo dedicamos
algumas pginas anlise do poder da ideologia, dando destaque
especial ao papel dos meios de comunicao na manuteno da
sociedade de classes. A transmisso de conhecimentos tcnicos
e valores de subordinao pela escola pblica no sculo XX foi
abordada na quarta seo. Sabendo que as lutas por uma pe-
dagogia do trabalho associado foram abordadas no artigo Em
busca de uma pedagogia da produo associada (Novaes e Cas-
tro) desta coletnea, no nos debruramos neste tema nas prxi-
mas pginas. A reflexo sobre o que se ensina nas universidades
e o que se pede nos concursos foi retomada por ns nesta parte
do artigo. Acreditamos que ela fundamental para compreender-
mos a formao, os hbitos, a seleo e as aes dos funcionrios
pblicos. Depois de analisar o currculo explcito e implcito das
burocracias, nos debruamos sobre a margem de manobra que
172
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
permite aos trabalhadores a conformao e at mesmo a supera-
o do Estado capitalista em processos revolucionrios. A teoria
do desenvolvimento desigual e combinado foi resgatada na sexta
seo para compreendermos as especificidades do Estado latino-
americano. Em seguida, escrevemos algumas pginas sobre o Es-
tado do bem-estar Social na Europa. A penltima seo do artigo
lida com as transformaes no Estado nos anos 1970 que deram
origem ao Estado mnimo para os trabalhadores e mximo para
o capital principalmente para o capital financeiro na Amrica
Latina. Encerramos o texto com algumas notas sobre a necessi-
dade de superao do Estado e do trabalho alienado.
notas sobre a teoria geral do estado
Segundo Miliband (1972), Poulantzas (1985) e Pinassi (2009),
uma teoria do Estado tambm uma teoria da sociedade e da dis-
tribuio do poder. Eles criticam os tericos pluralistas e afirma
que o Estado uma instituio de tipo especial, cujo principal ob-
jetivo defender o predomnio de uma determinada classe
1
.
Em linhas gerais, Ianni (1989) afirma que o Estado no um
rgo apenas de mediao nas relaes de classe. Ele elemento de
preservao do predomnio de uma classe sobre outra. Para este
pensador social, a funo primordial do Estado a garantia das
condies de produo e expropriao dos bens produzidos. Po-
rm, com os processos de estatizao ocorridos no sculo XX, o
Estado tambm se inseriu nas condies de produo, o que se con-
vencionou chamar Estado-Empresrio. O Estado tambm uma:
poderosa agncia de induo de investimentos, alocao de recur-
sos, dinamizao das foras produtivas, organizao das relaes
1
Sobre a viso pluralista, ver o artigo de Milena Serafim e Rafael Dias nesta
coletnea.
173
Henrique T. Novaes
sociais de produo, transferncia de renda, planejamento indica-
tivo e impositivo, lugar de violncia organizada e concentrada na
sociedade (Ianni, 1989, p. 258).
Mszros (1986) certamente concordaria com O. Ianni, mas
tambm destacaria a ascenso do complexo industrial-militar no
sculo XX, que chegou a consumir 80% dos fundos pblicos desti-
nados poltica cientfica e tecnolgica nos EUA nos anos 1970
2
.
Na sociedade capitalista, o Estado , acima de tudo, o instru-
mento coercitivo de uma classe dominante, ela prpria definida em
termos de sua propriedade e de seu controle sobre os meios de pro-
duo (Miliband, 1972), que possui e controla os meios de produ-
o e capaz de usar o Estado como instrumento de dominao.
Nas palavras de Harvey (2005), o Estado capitalista no pode ser
outra coisa que instrumento de dominao de classe, pois se orga-
niza para sustentar a relao bsica entre capital e trabalho. Prin-
cipalmente nos momentos de crise, o Estado desempenha o papel
de rbitro entre as fraes do capital, isto , diante das disputas em
torno do excedente que na verdade so disputas entre as fraes
de classe (lucro industrial, juro, rendas). Para Harvey (2005), os
aspectos anrquicos e destrutivos da competio capitalista tm
de ser regulados: os conflitos de interesse entre fraes do capital
precisam ser arbitrados para o bem comum do capital.
Depois que Marx criticou a ideia dominante de sua po-
ca, isto , a de que o Estado expressava os interesses comuns de
todos, este complexificou-se muito mais. J no podemos dizer
que o executivo do Estado moderno no mais do que um co-
mit para dirigir os negcios comuns de toda a burguesia, sem
aprofundar o que aconteceu com o Estado no sculo XX. Para
introduzir este debate, vejamos a relao entre Estado, capital e
trabalho alienado.
2
Para este debate no Brasil, ver Dagnino (2009).
174
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
a relao estado, capital e trabalho alienado
Para o marxismo, a chave para a compreenso do capitalis-
mo a produo. bastante conhecida a frase de Marx em que
ele mostra que os trabalhadores tm que pedir permisso aos
proprietrios dos meios de produo para viver. Quando param
de trabalhar, morrem no dia seguinte. Os trabalhadores vivem
da venda da sua fora de trabalho, trabalham sem nada con-
sumir, e os capitalistas consomem sem nada produzir. No
so poucos os filmes que nos mostram que os capitalistas podem
ficar vrios anos sem receber lucros, mas os trabalhadores depen-
dem da venda da sua fora de trabalho pra sobreviver.
3
tambm bastante conhecida a frase de Marx na qual ele
observa que se o trabalhador pudesse, fugiria do trabalho como
foge da peste. Sob a gide do capital, o trabalho fonte de so-
frimento, mera atividade de sobrevivncia sem nenhum sentido
social (Mszros, 2002; Lukcs, 2010), mas isso no significa
que este tipo especfico de trabalho seja eterno e esteja em to-
dos os momentos da histria da humanidade. Poderamos lem-
brar, por exemplo, que muitos pensadores sociais observaram o
surgimento de cooperativas e associaes de trabalhadores que
carregavam em si embries de desalienao do trabalho, mesmo
reproduzindo as sequelas da forma de produo anterior. Tam-
bm podemos lembrar as sociedades indgenas da Amrica Lati-
na pr-colombiana, onde no existiam classes sociais, proprieda-
de privada e Estado.
No sculo XX, com a sofisticao das tcnicas de controle
do tempo de trabalho tendo em vista a produo e reproduo
ampliada do capital, surge uma classe auxiliar dos proprie-
trios dos meios de produo, chamada de gestores (Bernardo,
3
Ver, por exemplo, os filmes A classe operria vai ao paraso, de Elio Petri,
e Os companheiros, de Mario Monicelli.
175
Henrique T. Novaes
1987), tecnocratas ou burocracia das grandes corporaes, mui-
tos deles sendo engenheiros, economistas, administradores de
empresas etc.
4
Com a revoluo industrial e o surgimento da maquinofa-
tura, o capitalismo inaugura a diviso entre o trabalho de con-
cepo e de execuo, a separao entre o homo faber e o homo
sapiens. Os tecnocratas ficam com as funes estratgicas das
grandes corporaes e tentam manter as relaes de trabalho
harmoniosas. Os trabalhadores tendem a lutar pelo aumento do
seu salrio ou, em momentos de acirramento das lutas sociais,
buscam controlar os meios de produo, via autogesto.
Se Lenin (1981) verificou processos de fuses e aquisies
no final do sculo XIX que geraram inmeros monoplios e oli-
goplios, Braverman (1987) e Tragtenberg (2004) ressaltam a
brutal assimetria de poder entre capital e trabalho nas corpora-
es que surgiram no sculo XX. Isso nos permite desmascarar
o mito da democracia liberal, principalmente no cho de fbrica.
Os trabalhadores no decidem o que produzir, como produzir,
para quem produzir, isto , no h nenhum sentido no trabalho
realizado. Fourier, um socialista utpico, dizia que as fbricas
capitalistas so prises brandas.
Joo Bernardo (2004) afirma que o capitalismo das grandes
corporaes o capitalismo da democracia totalitria. Bernar-
do (2000) chama de Estado Restrito o conjunto das instituies
que compem o governo, o parlamento e os tribunais. O Estado
Amplo abrange de maneira mais especfica a manuteno das
condies de explorao capitalista. Ele teria o poder de orga-
nizar a fora de trabalho, de regulamentar a produo, de impor
4
Sobre este debate em perspectiva histrica e mais aprofundada, cf. o artigo
de Felipe Silva nesta coletnea. Sobre a relao entre este tema, o tayloris-
mo-fordismo e a educao para o trabalho, cf. o artigo de Novaes e Castro,
tambm nesta coletnea.
176
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
a disciplina de fbrica. O Estado Amplo constitudo, em suma,
pelos mecanismos que asseguram s classes dominantes, no inte-
rior das unidades econmicas, a extorso da mais-valia (Bernar-
do, 1987 apud Sard de Faria, 2005). No entanto, reza a teoria
liberal que vivemos numa sociedade de troca entre iguais, onde
as pessoas so livres como pssaros.
5
Ainda seguindo os passos de Bernardo, este pensador ques-
tiona a falsa liberdade difundida no final do sculo XX. Para ele,
Liberdade hoje a possibilidade de escolher entre um nme-
ro cada vez maior de produtos equivalentes (...). Democracia
hoje a possibilidade de alimentar com o nosso trabalho, engenho
e iniciativa uma elite social que se apropria dos principais frutos
dessa atividade (Bernardo, 2000).
Harvey (2005) destaca que o sistema jurdico do capital
possui um papel crucial na sustentao e na garantia da estabili-
dade dos contratos legtimos entre trabalhadores e patres. Em
resumo, garantia do direito da propriedade e garantia da venda
da fora de trabalho numa sociedade onde a propriedade privada
majoritria.
6
Para fins didticos, podemos lembrar uma passagem de
Marx em que ele narra a histria de um capitalista britnico que
resolveu produzir tecidos na Austrlia, j que a exportao do
produto para tal pas j era um negcio lucrativo. Com essa in-
teno, adquiriu maquinaria e matria-prima, recrutou trabalha-
dores e para l embarcou tudo, homens e coisas. Ao chegarem
5
Trata-se de um tema bastante atual no Brasil, pois estamos vivendo no
uma democracia, mas o retorno da aucarocracia, sojacracia, empreitero-
cracia e plutocracia da ditadura civil-militar dos anos 1964-1985. George
Soros, um dos maiores investidores individuais do capitalismo financeiriza-
do, observou que os mercados votam todos os dias. Sobre a aucarocracia
no nordeste brasileiro, ver Oliveira (2008).
6
Sobre isso, ver Naves (2000) e Tarso de Melo (2009).
177
Henrique T. Novaes
nesta ilha ento pouco povoada, os trabalhadores renunciaram
condio de assalariados do capitalista, apoderando-se cada
um de um pedao da terra que era farta, e transformaram-se em
pequenos camponeses. As mquinas e matrias-primas enferru-
jaram ou apodreceram com a inatividade.
A partir desta reflexo de Marx, Joo Bernardo (1987) ex-
trai a seguinte concluso: esse algodo ou essa l, essa maquinaria
eram capital? O seu proprietrio era capitalista? Tinham deixado
de s-lo isso que nos mostra esta fbula verdica a partir do
momento em que os trabalhadores deixaram de ser operrios assa-
lariados e se estabeleceram como camponeses por conta prpria. A
histria no diz se esse logrado patro o compreendeu, mas tanto o
autor que a narrou, como Marx que a reproduziu, como ns hoje,
todos podemos entender que o dinheiro, as aes, as mquinas, a
matria-prima s funcionam como capital enquanto os trabalha-
dores se comportarem como proletrios (Faria, 2005).
Ao refletir sobre a construo dos pilares que sustentam o
capitalismo, Marx nos mostra no texto A assim chamada acu-
mulao primitiva o papel violento do Estado, comandado pelas
classes dominantes que chegam ao poder, no divrcio inicial do
trabalhador e seus meios de produo (o caracol e sua concha). Este
divrcio realizou-se pela fora direta (espoliao de terras, expul-
so de pequenos produtores etc.) ou atravs da violncia legalizada
por via do Estado. Na Inglaterra isso se deu atravs do cercamento
das terras (Engels, 2004). Mesmo sendo muito extensas, as duas ci-
taes de Engels abaixo reproduzidas so muito importantes para a
compreenso da origem do Estado na histria da humanidade:
Assim, o Estado no , de modo algum, um poder, de fora, im-
posto sobre a sociedade; assim como no a realidade da ideia
moral, a imagem e a realidade da razo, como sustenta Hegel.
Em vez disso, o Estado o produto da sociedade num estgio es-
pecfico do seu desenvolvimento; o reconhecimento de que essa
sociedade se envolveu numa autocontradio insolvel, e est ra-
178
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
chada em antagonismos irreconciliveis, incapazes de serem exor-
cizados. No entanto, para que esses antagonismos no destruam
as classes com interesses conflitantes e a sociedade, um poder,
aparentemente situado acima da sociedade, tornou-se necessrio
para moderar o conflito e mant-lo nos limites da ordem; e esse
poder, nascido da sociedade, mas se colocando acima dela e, pro-
gressivamente, alienando-se dela, o Estado (Engels, 1991).
O Estado que se origina da necessidade de manter os antago-
nismos de classe sob controle, mas que tambm se origina no
meio da luta entre as classes, , normalmente, o Estado da classe
economicamente dirigente que, por seus recursos, torna-se tam-
bm classe politicamente dirigente, e, assim, obtm novos meios
de controlar e explorar as classes oprimidas. O Estado antigo
era, antes de mais nada, o Estado dos senhores de escravos para
controlar os escravos, assim como o Estado feudal era o rgo
da nobreza para oprimir os servos camponeses, e o Estado re-
presentativo moderno o instrumento para explorar a mo de
obra assalariada pelo capital. No entanto, ocorrem perodos ex-
cepcionais quando classes antagnicas se igualam em foras
em que o poder do Estado, como aparente mediador, adquire,
naquele momento, certa independncia em relao a ambas as
classes (Engels, 1991).
No livro A situao da classe trabalhadora na Inglaterra,
Engels (2004) nos mostra a funo do Estado durante a Revolu-
o Industrial na Inglaterra. A vantagem de Engels que ele ob-
serva este momento histrico de uma forma totalizante: analisa
todas as questes que envolvem o cotidiano do trabalho que vo
desde as condies de trabalho, as leis que impem a disciplina
do trabalho, o problema da habitao, passando pelo transporte,
o surgimento de instituies filantrpicas, o papel das escolas
para os trabalhadores e para a burguesia, as prises, a alimenta-
o dos trabalhadores, o surgimento dos sindicatos e associaes
de trabalhadores como embries de resistncia ao avano do ca-
pital, entre outras.
179
Henrique T. Novaes
Todos estes autores consideram que h uma enorme assi-
metria de poder entre as classes sociais. Um pequeno nmero de
enormes corporaes possui uma importncia exageradamente
desproporcional na economia, principalmente depois da ascen-
so dos grandes monoplios e oligoplios, sob hegemonia do
imprio estado-unidense (Lenin, 1981)
7
. Para ns, o Estado do
bem-estar social um momento de rara exceo na balana do
poder capital-trabalho.
Tentando estabelecer a relao entre governos capitalistas e
o apoio destes s corporaes no sculo XX, Miliband (1972) se
pergunta: por que os governos geralmente auxiliam o empresa-
riado de todas as maneiras possveis? Segundo este intelectual:
O interesse nacional est indissoluvelmente ligado aos azares da
empresa capitalista: ao servir aos interesses do empresariado e ao
ajudar a empresa capitalista a prosperar, os governos esto real-
mente desempenhando o seu apregoado papel de guardies do bem
de todos. Desse ponto de vista, a to ridicularizada frase o que
bom para a General Motors bom para a Amrica tem o nico
defeito que tende a identificar os interesses de uma empresa parti-
cular com o interesse nacional. Mas se a General Motors o prot-
tipo do mundo da empresa capitalista como um todo, a expresso
pode ser subscrita, s vezes explicitamente, pelos governos dos pa-
ses capitalistas. Isso porque eles aceitam a noo de que a racionali-
dade econmica do sistema capitalista sinnimo de racionalidade
e que ela oferece, dentro de um mundo necessariamente imperfeito,
o melhor possvel de arranjos humano (Miliband, 1972)
8
.
7
Para o debate contemporneo do imperialismo, ver o livro organizado por
Panitch e Leys (2006).
8
Clauss Offe (1984) nos lembra que o Estado capitalista possui quatro ca-
ractersticas ou determinaes funcionais, isto , necessita da democracia
para se legitimar; depende de impostos; possui a responsabilidade de ga-
rantir a manuteno da acumulao e a produo da riqueza material que
se encontra sob custdia dos capitalistas; dessa forma, tem a acumulao
como seu ponto de referncia. Para eles, h uma dependncia do Estado
em relao s decises dos agentes privados em termos de alocao de re-
180
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
Miliband (1972) desconstri os argumentos dos empres-
rios, que sustentam a falcia de que esto engaiolados e confina-
dos por governos burocraticamente intrometidos.
Engels (2004) e Harvey (2005) observam que podemos es-
tabelecer uma relao bastante interessante entre empreiteiras e
o reforo da ideologia da propriedade privada. Retornaremos ao
tema da ideologia na prxima seo, mas podemos destacar que
a garantia do direito casa prpria alimenta a ideologia da pro-
priedade privada, um dos cernes do capitalismo. Principalmente
na Europa, esta prtica tambm proporcionou padres mnimos
de abrigo para os trabalhadores, alm de abrir um novo mercado
para a produo capitalista (reproduo ampliada do capital)
tendo a habitao como valor de uso
9
.
o processo de legitimao da dominao: o poder da
ideologia
Deve-se enfatizar que o poder da ideologia dominante indubi-
tavelmente enorme, no s pelo esmagador poder material e por
equivalente arsenal poltico-cultural disposio das classes domi-
nantes, mas tambm porque esse poder ideolgico s pode preva-
lecer graas preponderncia da mistificao, por meio da qual
os receptores potenciais podem ser induzidos a endossar, con-
sensualmente, valores e diretrizes prticas que so, na realidade,
totalmente adversos a seus interesses vitais (Istvn Mszros).
cursos. O Estado seria constrangido pelo capital, pois necessita de receita
financeira que em ltima instncia resulta do processo de acumulao
capitalista. Como o Estado possui seus recursos enraizados nos investimen-
tos privados, ele passa a no ter outra opo seno criar os meios para a
preservao do sistema (Faria, 2005). Voltaremos neste tema mais a frente,
quando observarmos as possibilidades de superao do Estado capitalista.
9
Este tema ser desenvolvido pelos pesquisadores do coletivo Usina que ser
elaborado para o Volume II desta coletnea.
181
Henrique T. Novaes
A citao acima nos permite abordar a temtica ideolgi-
ca de uma forma mais ampla, prestando ateno na criao e
difuso de ideologias atravs de uma vasta rede de agncias for-
mativas que vo desde desenhos animados, a educao familiar,
os meios de comunicao, a fbrica como agncia educativa, a
educao formal nas escolas pblicas, os partidos polticos e a
igreja, entre outros.
Neste momento, nosso desafio mostrar como ao longo dos
perodos histricos as coalizes que comandam o Estado passam
a difundir nas suas diversas instituies uma determinada ideo-
logia coerente com as suas necessidades. Por que os dominados
no se revoltam constantemente contra os dominadores?
Os historiadores das ideias atribuem papel fundamental
ideologia na gerao de consentimento da maioria dos governa-
dos. Por que as classes dominantes tm sido capazes, em condi-
es de aberta disputa poltica, de assegurar a preservao de um
tipo de predomnio econmico e poltico?
Gramsci foi um dos intelectuais marxistas que se pronuncia-
ram sobre este tema, ao refletir sobre a construo da hegemonia.
Segundo Gramsci, A classe que controla os meios de produo
material controla ao mesmo tempo os meios de produo mental.
A hegemonia no algo que acontece como um mero deri-
vativo superestrutural do predomnio econmico e social, mas
em grande medida o resultado de um esforo permanente e pro-
fundo, realizado atravs de uma grande quantidade de agncias
(Miliband, 1972).
Zizek (2011), trazendo o debate da ideologia para o final
do sculo XX e incio do sculo XXI, faz a seguinte indagao:
por que consideramos que a situao catastrfica, mas no
grave? No seria esta a maneira como ns nos relacionamos
cada vez mais com nossa situao global? Todos sabemos da ca-
tstrofe iminente ecolgica, social mas de alguma forma no
levamos esta questo a srio. E continua:
182
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
Em psicanlise, chamamos esta atitude de separao fetichista:
eu sei muito bem, mas... eu no acredito realmente. E tal sepa-
rao a clara indicao da fora material da ideologia (Zizek,
2011, p. 43).
Para Harvey (2005), as instituies estatais tm que ser ar-
duamente construdas, o que envolve necessariamente a constru-
o da ideologia da burocracia estatal. O Estado burgus no
nasce como reflexo automtico do crescimento das relaes so-
ciais capitalistas. As instituies estatais tm de ser arduamente
construdas e, em cada etapa do percurso, o poder pode ser (e
era) exercido atravs dessas instituies, ajudando a criar as rela-
es sociais que, no fim, as instituies estatais refletem de forma
no mecnica, pois esto permeadas por contradies. Lembre-
mos que Marx no considera o Estado um elemento passivo da
histria, mecanicamente reprodutor das relaes de produo.
Neste ponto, Harvey (2005) critica o marxismo determinis-
ta e superestrutural, que reduz o Estado ou a uma forma sim-
plesmente superestrutural ou a uma mera manifestao da
base econmica. Este tipo de marxismo, hegemnico no sculo
XXI, dever ser superado no sculo XXI para que consigamos
teorizar e construir uma sociedade para alm do capital.
O movimento na sociedade corresponde a um movimento
no Estado, num processo bastante complexo que envolve contra-
dies, reaes, recuos, avanos, adeso e resistncia da burocra-
cia estatal. Georg Lukcs usa os conceitos de determinantes de
primeira ordem e determinantes de segunda ordem para dar
uma resposta terica a este problema. Para ele, s iremos com-
preender e transformar o capital se levarmos em conta a necessi-
dade de compreenso do capital em sua totalidade. No compre-
ender o capital como relao social total um grande passo para
a perpetuao do fetiche do Estado.
Nas suas palavras: O que distingue, decisivamente, o mar-
xismo da cincia burguesa no a tese de um predomnio dos
183
Henrique T. Novaes
motivos econmicos da explicao da histria; o ponto de vista
da totalidade (Lukcs, 2003). Mais precisamente, seguindo ain-
da as trilhas de Lukcs, na teoria social de Marx, a totalidade,
como categoria fundante da realidade, significa:
em primeiro lugar, a unidade concreta das contradies interatuan-
tes; em segundo lugar, a relatividade sistemtica de toda totalida-
de, tanto para cima como para baixo (o que quer dizer que toda
totalidade construda por totalidades subordinadas a ela e tam-
bm que, ao mesmo tempo, ela sobredeterminada por totalida-
des de maior complexidade...); e, em terceiro lugar, a relatividade
histrica de toda totalidade, ou seja, que o carter-de-totalida-
de de toda totalidade dinmico, mutvel, sendo limitado a um
perodo histrico concreto, determinado (Lukcs, 1949, apud
Netto, 2009).
A viso equivocada de superestrutura como reflexo da
base nos conduz ideia que o Estado passivo na sociedade.
Para Harvey (2005), base econmica e superestrutura se as-
sociam. H uma interao dialtica e isto foi desprezado pelo
marxismo mecanicista do sculo XX. Isso nos leva a crer que o
Estado uma relao ou processo, no cabendo aqui uma viso
esttica, determinista, mas, sim, olhar dialtico, de apreenso do
movimento, das contradies.
Behring e Boschetti (2006) nos ajudam a compreender este
problema a partir da anlise das polticas sociais. Para elas, as
polticas sociais devem ser observadas como processo e resul-
tado de relaes complexas e contraditrias que se estabelecem
entre Estado e sociedade civil, no mbito dos conflitos e luta de
classes que envolvem o processo de produo e reproduo do
capitalismo. Elas recusam a utilizao de enfoques restritos ou
unilaterais, comumente presentes para explicar sua emergncia,
funes ou implicaes (Behring e Boschetti, 2006, p. 36).
Poderamos separar a relao entre o movimento na so-
ciedade e seu correspondente no Estado em dois momentos dis-
184
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
tintos, os das revolues burguesas radicais (inglesa, francesa,
holandesa etc.) onde houve uma alta coordenao das transfor-
maes no Estado e momentos de inrcia ou transformaes es-
tatais de menor porte.
Para o caso brasileiro, poderamos ilustrar este argumento
atravs da compreenso da Revoluo de 1930, momento hist-
rico em que houve uma alta dose de coordenao na transforma-
o do aparelho estatal herdado por Getlio Vargas e as classes
que ele representava: a) criao de cargos concursados e quebra
parcial do Estado patrimonialista; b) criao de empresas esta-
tais; c) polticas de incentivo a industrializao via substituio
de importaes; d) polticas educacionais e de educao profis-
sional para a formao do trabalhador taylorista; e) polticas de
crdito e de cmbio que utilizaram os fundos pblicos a favor da
industrializao, drenando fundos advindos da produo de caf
para o fortalecimento da indstria. Depois desta breve sntese
sobre o poder da ideologia, a relao dialtica entre estrutura e
superestrutura e a categoria totalidade, vejamos agora as especi-
ficidades dos meios de comunicao, suas contradies e funes
na sociedade de classes.
o papel dos meios de comunicao
Maurcio Tragtenberg (2006) atribui um peso significativo
aos meios de comunicao, principalmente atravs da hierarqui-
zao do tipo de informao que se deve socializar de conheci-
mento. Para este pensador social, quanto menos importante uma
notcia, maior importncia ser dada a ela.
Miliband (1972) ironiza a ideia que vivemos numa sociedade
de livre expresso. Para ele, pode at haver livre expresso, des-
de que esta seja til ao sistema. Nesse sentido, os meios de co-
municao cumprem uma funo ideolgica fundamental para a
perpetuao da sociedade de classes. Eles fortalecem a viso de
185
Henrique T. Novaes
que a empresa privada constitui a condio para a prosperidade
econmica, para o bem-estar social, para a liberdade. Eles
deploram as greves, criam hostilidade aos grevistas, no entrevis-
tam pesquisadores e intelectuais crticos ao sistema do capital e
no permitem que a populao apreenda os problemas contempo-
rneos e histricos dentro de uma totalidade. No Brasil, o maior
exemplo a Rede Globo, com seu pacote de novelas alienantes
e um jornal sanduche que nos bombardeia com notcias eletro-
cutantes, mas sem permitir ao espectador qualquer engajamento
nas lutas sociais. Ele permite apenas reaes emotivas aos graves
problemas sociais. Em seguida, surge uma novela que representa
o irracionalismo da sociedade moderna.
Mszros nos lembra que os jornais britnicos podem at
divergir em alguns pontos, mas so extremamente consensuais
(Mszros, 2005). No sculo XIX, Engels (2006) reparou que
havia uma leve diferenciao entre os jornais liberal e conser-
vador, de acordo com as classes que estes representavam, mas
todos os dois eram pr-capital. No Brasil, o controle dos meios
de comunicao (TV, rdio, jornais etc.) sempre foi muito es-
tratgico para a perpetuao da dominao. Principalmente no
nordeste, as famlias Magalhes, Sarney, Jereissati, Collor, Ca-
lheiros etc. construram corporaes que passam a disseminar
informaes que so teis para manter a apatia da populao e a
coronelcracia
10
.
No poderemos neste artigo nos dedicar ao papel de al-
gumas TVs pblicas na contestao da ideologia do capital ao
longo da histria do sculo XX, mas gostaramos de mencionar
apenas duas raras excees, a BBC inglesa e a TV Cultura bra-
sileira. Tariq Ali (2005) nos mostra o importante papel da BBC
ao longo do sculo XX na socializao da informao com um
vis mais crtico, mas tambm nos mostra a interferncia do
10
Sobre isso, ver Dria (2009).
186
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
governo nos anos 1990 na indicao de diretores da TV com
um perfil mais conservador. Para o caso brasileiro, Mrio Co-
vas dizia algo assim sobre a TV Cultura: que TV essa que eu
pago, mas no mando?. A degenerao da TV Cultura estar-
recedora. Se outrora ela teve algum sentido pblico, com baixa
interferncia dos governos que sobem ao poder, agora ela re-
presenta a decadncia ideolgica da elite conservadora paulista.
Apenas para ilustrar, basta lembrar a reconverso do programa
Roda Vida num pequeno circo, comandado Marlia Gabriela:
entrevistados ruins, entrevistadores pssimos e temas de pouca
profundidade que nada ajudam a humanidade a enxergar e re-
solver seus problemas vitais.
o papel das escolas no capitalismo: a educao dual
O capitalismo no simplesmente um modo de produo
do capital, ele tambm modo de reproduo do capital. Em
outro artigo desta coletnea (Novaes e Castro), procuramos fa-
zer uma breve sntese sobre o papel da escola capitalista e as
lutas pela pedagogia da produo associada. Circunscrevemos
nossa anlise no sculo XX para mostrar algumas continuida-
des na relao trabalho e educao: as diferentes escolas para
diferentes classes sociais. Mostramos tambm algumas descon-
tinuidades e continuidades do taylorismo em funo da diviso
internacional do trabalho, das particularidades dos pases e das
regies dos pases.
Procuramos ressaltar que uma das funes da Escola p-
blica a disseminao do currculo oculto: a aceitao submissa
da ordem social, criao de conformismo de classe. A escola
tende a colocar na cabea dos alunos qual deve ser o seu papel
na sociedade: assalariados pouco qualificados. Evidentemente
que a escola proporciona mobilidade social. Mas para a imen-
sa maioria as escolas desempenham um papel vital no sentido
187
Henrique T. Novaes
de confirmar seu destino e seu status de classe (Miliband,
1972). Na mesma linha, outros estudos tambm tm mostra-
do que a tendncia da escola preparar as crianas e jovens
para hbitos hierrquicos (Pistrak et al. 2009; Freitas, 2009),
que preparam as crianas desde cedo para a subordinao, para
a apatia na fbrica etc. Mais recentemente, com a difuso do
toyotismo, parcelas do capital necessitam de um trabalhador
que pense nos problemas do capital e em solues que estejam
dentro da rbita do capital.
Mszros (2004) nos lembra tambm o papel na promo-
o da qualificao necessria ao capital e na transmisso de
determinadas interpretaes da histria do pas, o tipo de en-
gajamento e participao das pessoas para a reproduo do so-
ciometabolismo do capital
11
. Sobre isso, basta lembrar a difuso
nas escolas da ideologia da responsabilidade social e do tra-
balho voluntrio.
Mszros nos mostra tambm como os dominados tenta-
ram subverter este papel da escola em contextos revolucionrios,
em processos que tentaram dar educao o papel de descons-
truo da sociedade de classes e construo de uma sociedade
emancipada, sempre atrelados s modificaes no trabalho alie-
nado. Para citar um exemplo, Mszros nos lembra como era a
educao em Cuba antes da Revoluo. Neste pas, a escola na-
turalizava o imperialismo, a dominao, o papel de Cuba como
pas perifrico, o papel dos trabalhadores como entes subordina-
dos e o conformismo.
Recentemente, o Estado da Coreia do Sul utilizou quadri-
nhos para transmitir sua ideologia. De acordo com manchete da
11
Para este debate numa perspectiva histrica mais ampla, ver Ponce (2010),
Frigotto (1995), Dal Ri e Vieitez (2008), alm de Minto (2005). Para a con-
tratendncia da educao, especialmente no ensino, na pesquisa e na exten-
so universitria, ver Novaes (2010).
188
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
Folha de S. Paulo: Coreia do Sul faz uso de gibi para prevenir
crianas contra Norte. E continua:
Alegando que jovens esto mal informados, Seul lana quadrinho
que retrata horrores de Pyongyang. Os servios de segurana da
Coreia do Sul esto usando histrias em quadrinhos e jogos de
computador para transmitir entre crianas e adolescentes mal in-
formados a mensagem de que a Coreia do Norte, dotada de ar-
mas nucleares, ainda uma ameaa. Na semana passada, a polcia
lanou um gibi intitulado Ji-yong parte em viagem no tempo,
voltado a crianas de 10 a 15 anos de idade. A histria trata de um
garoto que viaja no tempo, acompanhado do fantasma de seu av,
nas costas de um drago vermelho gigante. O menino testemunha
a invaso norte-coreana da Coreia do Sul, em 1950, e a ditadura
stalinista de Kim Il-sung, alm dos campos de trabalhos forados,
a fome, as armas nucleares e os ataques cibernticos contra sites
de todo o mundo. No gibi, Ji-yong v norte-coreanos beira da
morte por inanio, cochichando s escondidas sobre seu sistema
poltico e sendo fuzilados quando tentam deixar o pas. O suces-
so econmico e a democracia sul-coreanos formam um contras-
te agudo quando o drago sobrevoa a grande metrpole de Seul.
Produzimos os gibis com base na avaliao de que a maioria das
crianas e dos jovens sul-coreanos tm uma viso distorcida de
questes ligadas segurana, alegou a polcia, citando pesquisa
que mostra que 57% dos alunos de escolas no tm conscincia
da Guerra da Coreia e que 60% dos jovens de 20 anos no sabem
quando a guerra comeou. comum ouvir do atual governo me-
nos propenso ao dilogo com o vizinho do que os anteriores a
queixa de que a gerao mais jovem ignora a ameaa representada
pela Coreia do Norte ou demonstra simpatia aberta por ela. O
fato atribudo em parte a cineastas esquerdistas que, nos lti-
mos anos, criaram filmes de ao populares nos quais as distines
morais entre as Coreias perderam a nitidez. A polcia sul-coreana
ficou alarmada neste ano quando um grupo de crianas de menos
de 13 anos montou um grupo de mensagens na Internet elogiando
Kim Il-sung e seu filho e sucessor, Kim Jong-il. Seis crianas foram
detidas brevemente por colocar em risco a segurana nacional
(Folha de S. Paulo, 21/12/2009).
189
Henrique T. Novaes
Nas palavras de Miliband (1972), a escola estatal oferece
uma minguada educao e tende a mutilar o ensino, estando
longe de oferecer o desenvolvimento intelectual do ser huma-
no. As escolas colocam na cabea do aluno que ele culpado pela
sua situao: incapacidade pessoal, inata, dada por deus,
e insupervel. Confirmam a ideia de que eles so escravos na-
turais, que h um destino inelutvel.
A escola refora o papel para o qual as circunstncias de
classe os destinaram desde o bero. Deste ponto de vista, uma
das ideologias mais profundas a do fetiche da mobilidade so-
cial. verdade que a educao permite que parcelas dos traba-
lhadores ascendam socialmente. No entanto, isso tem sido muito
mais a exceo do que regra.
Refletindo sobre a Inglaterra dos anos 1970, Miliband
(1972) observa que o professor vem da classe mdia. Eles tentam
inculcar nos alunos a tica e maneira de ver o mundo do ponto
de vista da classe mdia. A professora ensina a adquirir hbitos
de higiene e trabalho, fazer sacrifcios para obter xito. Os que
so brilhantes so ajudados a preparar a fuga de sua condio,
o resto ajudado a aceitar sua subordinao (Miliband, 1972).
a formao das burocracias: o que se ensina nas
universidades e o que se pede nos concursos?
Um dos subtemas mais importantes no campo da educao
a formao recebida no ensino mdio e universitrio e os temas
dos concursos que conformam o cotidiano dos servidores pbli-
cos
12
. Nesta seo, iremos restringir nossa anlise ao caso brasi-
12
No artigo escrito por Benini, Benini e Novaes que faz parte desta coletnea
estabelecemos uma outra relao: o poder das elites brasileiras na determi-
nao dos cargos comissionados. Elas ainda dominam muitos dos postos
estratgicos do Estado brasileiro sem qualquer tipo de concurso.
190
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
leiro, muito embora em alguns momentos tenhamos recorrido a
experincias internacionais.
Pode-se dizer que a formao requerida para um burocra-
ta brasileiro est em consonncia com o projeto de Brasil em
cada momento histrico. Getlio Vargas criou polticas edu-
cacionais voltadas formao do funcionrio pblico taylo-
rista, que pensasse com viso departamental e segmentada as
questes nacionais. J nos anos 1990, teremos o funcionrio
pblico toyotista. Parcelas destes sero flexveis concursados,
trabalhando por metas, de uma forma muito parecida das
corporaes: deve pensar com orientao por problema e no
deve ser um superespecialista num tema. A grande parcela dos
trabalhadores pblicos dever se acostumar a um trabalho sem
concurso, terceirizado, sem direitos trabalhistas, e que execute
uma atividade rotineira, mecnica, sem sentido social. Este
o paradigma bresseriano, condensado por Bresser Pereira, no
Governo FHC.
Para ns, os pesquisadores da administrao pblica tm
desprezado o filtro ideolgico que seleciona os funcion-
rios pblicos no Estado capitalista. Mais uma vez recorrendo a
exemplos, sob o capitalismo na Frana, a burocratizao foi e
ainda acompanhada do monoplio oligrquico dos altos car-
gos, dominados pelos filhos da alta burguesia. Nas palavras de
Codaccioni :
o recrutamento de altos funcionrios no feito na Frana, apesar
das precaues e inovaes, de uma maneira absolutamente leal
e democrtica, pois como no passado a alta burguesia parisiense,
excluindo qualquer outra classe social, monopoliza as melhores
posies na ENA [Escola Nacional de Administrao], portanto,
os mais altos cargos da administrao, pois o instituto do concur-
so, pblico, aparece como certa prtica sistemtica, mas existem
certas pr-solues que esvaziam essas provas de qualquer signifi-
cado exato (Codaccioni, p. 45, apud Duarte, 1997).
191
Henrique T. Novaes
Segundo Miliband (1972), os funcionrios do alto escalo
representam a voz da cautela e da moderao. Em geral so
conservadores e aliados conscientes ou inconscientes das elites
econmicas e sociais existentes, devido origem social, educao
e situao de classe. Para ele, h um espectro admitido na seleo
ideolgica dos funcionrios pblicos: conservadorismo rgido ou
dbil reformismo
13
.
Qualquer semelhana com o Brasil mera coincidncia. Se
em alguma medida os concursos serviram para superar o Esta-
do patrimonialista pr-anos 1930, observamos a partir dos anos
1970, principalmente na universidade pblica, inmeras pr-
solues encontradas pelas nossas elites universitrias conserva-
doras que esvaziam os concursos de qualquer significado exato.
Diante disso, poderamos nos perguntar: os concursos perderam
seu significado? Se em algum momento permitiram que parcelas
da esquerda encontrassem um porto seguro na universidade p-
blica, a direita rapidamente se adaptou a esta modalidade, reali-
zando uma transmutao que permitiu o acesso privilegiado aos
professores conservadores.
Um outro caminho encontrado pela elite estado-unidense
para frear a entrada do pensamento crtico no Estado capitalista
no sculo XX foi a recusa de professores sindicalizados nos EUA.
Neste pas, no perodo posterior a 1945, vrios Estados apro-
varam leis exigindo a no filiao ao Partido Comunista ou s
organizaes designadas pelo procurador-geral como subversi-
13
Miliband (1972) observa tambm que os juzes so independentes do
executivo, mas no so independentes em relao a inmeras influncias
(origem de classe, educao, situao de classe, convvio e hbitos de classe
etc.) que contribuem para a sua concepo de mundo. Eles so recrutados
nos escales mdio e alto da sociedade. certo que iremos encontrar alguns
casos de juzes e advogados com tendncias radicais, mas eles constituem
certamente uma exceo.
192
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
vas
14
. Um efeito de tal exigncia o de afastar do ensino algumas
pessoas que possam sustentar concepes polticas subversivas.
Outro efeito afastar do ensino um nmero maior de pessoas,
cujas opinies econmicas e polticas, quando julgadas alguns
anos antes ou alguns anos depois, no pareceriam ser to subver-
sivas ou perigosas, mas simplesmente impopulares ou no con-
formistas (Miliband, 1972).
Segundo Miliband (1972), as teorias pluralistas dizem que
o poder nas sociedades competitivo, fragmentado ou difuso.
Miliband se posiciona contra os tericos dos anos 1960 que afir-
mam que vivemos o fim da ideologia, que estamos numa socie-
dade de massas, plural, onde h igualdade entre os seres huma-
nos e houve uma revoluo do consumidor. Para ele:
numa poca em que se fala tanto em democracia, igualdade, mo-
bilidade social, ausncia de classes, e assim por diante, continua
a ser um fato bsico da vida dos pases capitalistas avanados
o de que uma imensa maioria de homens e mulheres daqueles
pases tem sido governada, representada, administrada, julgada
e comandada na guerra por pessoas oriundas de outras classes
econmicas e socialmente superiores e relativamente distantes
(Miliband, 1972, p.87).
Do ponto de vista da formao das elites, vejamos a citao
do Roberto Simonsen sobre o papel da Escola de Sociologia e
14
No podemos deixar de ressaltar tambm o papel do Estado em golpes
contrarrevolucionrios e o poder de veto dos empresrios nestes contextos.
Sobre isso, podemos lembrar os Golpes de Estado que varreram a Amrica
Latina na segunda metade do sculo XX. Para citar apenas trs exemplos: a
Argentina em 1976, o Brasil em 1964 e o Chile em 1973. Devemos lembrar
tambm a influncia direta dos EUA na promoo de golpes contrarrevolu-
cionrios no sculo XX. Sobre o caso brasileiro, ver Dreyfuss (1981). Para a
atuao do Estado argentino pr-golpe de 1976, ver o recm-lanado livro
Rodolfo Walsh (2010).
193
Henrique T. Novaes
Poltica criada nos anos 1930, como local estratgico para a for-
mao da elite nacional:
A formao das elites deve pois constituir uma das preocupaes
primaciais das sociedades modernas. Qualquer instituio social,
qualquer escola doutrinria que inspire ser adotada, qualquer as-
sociao industrial ou comercial, para colimar seus objetivos, todas
necessitam e exigem, cada vez mais, elementos da elite em sua dire-
o. Possuindo escolas superiores de incontestvel valor, So Paulo
precisa agora formar suas elites, educadas nas cincias sociais e no
conhecimento das verdadeiras condies em que se evolui a nossa
sociedade, como meios de mais fielmente aparelhar a escolha de seus
homens de governo (Simonsen, 1933 apud Batista e Gomes, 2011).
A citao acima bastante esclarecedora, mas ela deixa de
ressaltar um aspecto da nossa formao histrica: nossas elites
sempre foram tecnocratas e paternalistas. Elas reforam a ideo-
logia na qual os sbios bem formados conduzem o povo ao pro-
gresso e que o povo no deve participar das decises estratgicas
da sociedade, deixando estas nas mos da classe dominante. De-
pois de analisar rapidamente o papel dos concursos na perpetua-
o da sociedade de classes, vejamos agora a margem de manobra
que permite a conformao do Estado capitalista para fins pbli-
cos e at mesmo a sua superao, em contextos revolucionrios.
margem de manobra: as possibilidades de conformao
e superao do estado
Guillermo ODonnel (1982) observa que a pequena mar-
gem de manobra ou flexibilidade do Estado gera consentimento,
o que em alguma medida refora o fetiche do Estado. Quando o
povo afirma: Sim, o Estado pode abrigar nossos anseios
15
.
15
Para dar um exemplo bastante ilustrativo do Brasil dos anos 1930-1950,
podemos lembrar as palavras de Ianni (1989) que observa que os ensina-
194
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
No entanto, se verdade que as lutas sociais conformam o
Estado Capitalista, tambm preciso reconhecer que o Estado
no total flex, no podendo ser usado ou apropriado
para qualquer fim, a no ser num projeto revolucionrio de supe-
rao do capital (Mszros, 2002).
Joo Bernardo sempre nos lembra que um dos motivos para
o alcoolismo de trabalhadores autonomistas justamente a difi-
culdade de transformar estruturas pesadas e consolidadas, seja
o parlamento burgus seja o sindicato burocratizado. Por outro
lado, Mszros (2002) verifica que o parlamento burgus, bas-
tante assimtrico e construdo para as necessidades do capital,
tende a cooptar lideranas trabalhistas em alguma medida
compromissadas com os interesses dos trabalhadores (salrios
maiores, gratificaes, regalias, mordomias, arena do capital e
no dos trabalhadores etc.).
Isso nos permite perguntar: o Estado serve a todos que dele
se apropriam? Ele flexvel ou inflexvel? Seria o Estado total-
mente autnomo, agindo previsivelmente em defesa dos interesses
dos capitalistas, a ponto de no servir a quem dele se apropria?
Ou seria ele instrumental, podendo ento ser usado tanto por
capitalistas quanto por trabalhadores? Em que medida os confli-
tos interferem ou no na configurao do Estado?
Marx e Lenin observaram, a partir dos ensinamentos da
Comuna de Paris e sobre a Rssia tsarista para o caso de Lenin,
que o Estado no cai automaticamente num processo revolucio-
mentos histricos das campanhas de estatizao no governo de Getlio
Vargas so eloquentes. Na viso de Ianni, as campanhas contriburam para
a reificao do Estado. Nas suas palavras: A amplitude, durao e o sig-
nificado dessas campanhas produziram a reificao do Estado na conscin-
cia do proletariado. No apelo contnuo ao poder pblico, como maneira de
realizar reivindicaes de classe, essa categoria tem sido levada a fetichizar
o aparelho estatal, como se ele fosse o rgo que pode atender os seus obje-
tivos de classe (Ianni, 1989, apud Novaes, 2011).
195
Henrique T. Novaes
nrio. Para usar um termo contemporneo, o Estado no total
flex. Mas foi Lenin quem melhor observou a dificuldade mas
no a impossibilidade, de fenecimento do Estado capitalista em
momentos revolucionrios. Poderamos citar, por exemplo, sua
reflexo sobre os primeiros anos da URSS:
Ns assumimos a velha mquina do Estado, e foi esse nosso in-
fortnio. Com muita frequncia essa mquina funciona contra
ns. Em 1917, depois de tomarmos o poder, os funcionrios p-
blicos nos abandonaram. Isso nos atemorizou, e ns pedimos:
Por favor, voltem. Eles todos voltaram, mas esse foi o nosso
infortnio. Temos agora um vasto exrcito de funcionrios, mas
faltam-nos foras suficientemente educadas para exercer um con-
trole real sobre eles. Na prtica, ocorre com frequncia que, na
cpula, onde exercemos o poder poltico, a mquina, bem ou
mal, funciona. Mas, l embaixo, os funcionrios governamentais
tm controle arbitrrio e com frequncia o exercem de maneira
a contrariar nossas medidas. Na cpula, temos no sei quantos,
mas de qualquer modo creio que no so mais que alguns milha-
res; e por fora, vrias dezenas de velhos funcionrios que rece-
bemos do czar e da sociedade burguesa, e que, em parte delibe-
radamente e em parte inconscientemente, trabalham contra ns
(Lenin, 1976, v. 33, p. 428-429)
Lenin, em O Estado e a Revoluo, tambm percebeu a
burocratizao da revoluo russa: restaurao da burocracia,
diferenciao dos salrios dos funcionrios pblicos, no cria-
o de mecanismos de democracia direta combinados com meca-
nismos de democracia representativa, ausncia de revogabilidade
dos cargos eleitos nas fbricas e no Estado
16
. Mszros (2002),
sem desprezar a necessidade de superar o Estado por dentro,
traz inmeros elementos sobre a necessidade de ao extra-parla-
mentar no sculo XXI.
16
Para a contextualizao da Revoluo Russa, ver Serge (2003).
196
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
Vimos na introduo que para Przeworski (1989), o Estado
no responde invariavelmente aos requisitos da produo capi-
talista. A atividade das instituies e as prprias instituies so
um resultado contnuo dos conflitos sociais. Devemos analisar o
Estado sob circunstncias histricas concretas e observar como e
por que grupos especficos, classes ou fraes de classes entram
em conflito acerca de questes especficas. O resultado destes
conflitos uma determinada organizao e um conjunto de po-
lticas estatais.
No sculo XIX Engels observou que a burguesia construiu
dois mtodos de controle do Estado: a corrupo e a aliana en-
tre governo e bolsa de valores. Gramsci e Miliband sinalizam
que os mecanismos para dominao de classe no capitalismo do
sculo XX so mais difusos e sutis do que a ideia de que uma
pessoa que controla todas as instncias do Estado
17
. Alm dis-
so, a fragmentao do prprio Estado em instituies separadas
(governo central, burocracia, polcia, juzes, governos estaduais,
assembleias legislativas etc.) dificulta que qualquer frao do ca-
pital conquiste o controle total de todos os instrumentos de do-
minao de classe (Harvey, 2005).
Portanto, inapropriado considerar o Estado capitalista
como nada mais que uma grande conspirao capitalista para
a explorao dos trabalhadores (Harvey, 2005). Ademais, como
Gramsci assinala: As relaes internacionais se entrelaam com
as relaes internas dos Estados-Naes, criando combinaes
novas, nicas e historicamente concretas (Gramsci, 1971)
18
.
17
Segundo Harvey (2005), a famosa frase de Marx o executivo do Estado
moderno no mais do que um comit para dirigir os negcios comuns de
toda a burguesia deve ser complexificada em funo das transformaes
que ocorreram no Estado capitalista no sculo XX.
18
No entanto, alguns autores sempre nos lembram que em certos pases uma
frao do capital conseguiu controlar o Estado praticamente em sua totali-
dade ou com altssima coordenao de todas as instituies.
197
Henrique T. Novaes
desenvolvimento desigual e combinado
A necessidade de observamos as relaes entre naes levou
Marx e Trotsky, entre outros, a formular a teoria do Desenvol-
vimento desigual e combinado.
Para eles, h uma hierarquia entre as naes e uma hierar-
quia dentro de um mesmo pas. Giovanni Arrighi (1997) foi um
dos intelectuais que melhor explorou esta questo na segunda
metade do sculo XX. No seu livro A iluso do desenvolvimen-
to, ele nos mostra que existem especificidades histricas que im-
pedem que todas as naes sejam desenvolvidas. Para ele, al-
guns pases ou regies podem at pular para o andar de cima,
mas outros pases ou regies devero cair.
Interpretaes parecidas sobre as especificidades do subde-
senvolvimento tambm foram feitas por Maritegui (2008), Pre-
bisch (1949), Furtado (1974), Prado Jnior (1977), Sachs (1986)
e Sampaio Jr. (2010), entre outros. Sob o ponto de vista da teoria
da dependncia uma das teorias mais originais esboadas nos
pases do sul , podemos sublinhar a viso de Theotnio dos San-
tos. Para este intelectual:
a Teoria da dependncia, surgida na segunda metade da dcada
de 1960, representou um esforo crtico para compreender as
limitaes de um desenvolvimento iniciado num perodo his-
trico em que a economia mundial estava j constituda sob a
hegemonia de enormes grupos econmicos e poderosas foras
imperialistas, mesmo quando uma parte delas entrava em cri-
se e abria a oportunidade para o processo de descolonizao
(Santos , 2000, p. 26).
Teorias como esta so extremamente importantes justa-
mente para desconstruir o argumento dos idelogos do capital
e parcelas da intelectualidade de esquerda dos pases perifricos
que ignoram esta hierarquia no capitalismo. Para os ltimos, h
198
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
limites histricos que impedem dentro da rbita do capital
que todas as naes possam alcanar as naes do norte e se
desenvolver homogeneamente, como se o capital no criasse
assimetrias entre os pases e dentro dos pases. Diretamente vin-
culadas com estas teorias, temos as interpretaes sobre o Estado
do bem-estar social na Europa e o Estado do mal-estar social na
Amrica Latina, temas da nossa prxima seo.
o estado do bem-estar social na europa (1945-1973)
Para abordar o Estado do bem-estar social (Ebes) e o Es-
tado do mal-estar na Amrica Latina, lembremos que Gramsci
e Harvey destacam o papel das concesses de direitos ao traba-
lhadores para que uma classe dominante preserve sua hegemonia
na esfera poltica
19
. Em outras palavras, a classe dirigente talvez
tenha de fazer concesses que no so de seu interesse imediato.
Mas tambm no h dvida que tais sacrifcios e tais concesses
no tocam no essencial.
Esta parece ser a questo essencial do Ebes na Europa
(1945-1973). Se olharmos para o Ebes, o mesmo no decorreu
apenas da presso da classe trabalhadora para desmercantilizar
parcialmente a sociedade e controlar socialmente o capital. Para
Rosa Luxemburgo (1975), devemos lembrar tambm a crtica
incompleta da social-democracia ao capitalismo, enquanto que
Hobsbawm (1994) relembra o contexto de duas Guerras Mun-
diais, a Revoluo Russa que transformou o breve sculo XX,
a grande crise de 1929 e o avano do fascismo-nazismo.
Ao mesmo tempo que houve interesses dos trabalhadores
em frear o avano da irracionalidade do capital, houve tambm,
19
Para saber mais sobre este tema, ver o livro de Edmundo Dias (2000) e Del
Roio (2009). Para este pesquisador, o fundamento ltimo da hegemonia
o processo produtivo da vida material e o trabalho social.
199
Henrique T. Novaes
por parte dos capitalistas, o interesse em chamar o Estado
para regular e estabilizar a economia. Para isso, o mesmo deveria
se tornar produtor naqueles setores onde o tempo de amortizao
do capital era muito longo, criar polticas de crdito para o es-
tmulo do consumo, garantir o pleno emprego, prover habitao
adequada etc.
Przeworski (1989) acredita que o Ebes surgiu num momen-
to histrico de predominncia das ideias de Keynes. Lembremos
que Keynes advogava a necessidade de interveno pblica como
forma de evitar o colapso total do sistema capitalista engendrado
pela busca da eficincia individual das empresas versus o des-
governo da produo como um todo. Foi neste momento que, de
vtima passiva dos ciclos econmicos, o Estado tornou-se quase
da noite para o dia uma instituio por meio da qual a socie-
dade podia regular as crises a fim de manter o pleno emprego
(Przeworski , 1989).
Ao mesmo tempo, usava-se do deficit para financiar as obras
pblicas produtivas durante as depresses, atravs das polticas an-
ticclicas. Deve-se lembrar tambm que foram criadas polticas que
permitissem o acesso de uma parcela dos trabalhadores aos bens
de consumo. nesse momento que esta parcela de trabalhadores
passa a fazer parte dos clculos da demanda efetiva.
Przeworski (1989) nos alerta que o envolvimento do Estado
na produo e venda de produtos finais rarssimo. Na Europa,
o Estado tornou-se administrador do crdito, era produtor de
carvo, ferro e ao, produo e distribuio de energia, transpor-
tes e comunicao.
Para este autor, o Estado dedicou-se s atividades que no
eram lucrativas, mas que eram necessrias para a economia como
um todo. Ou melhor, o Estado no concorreu com o capital pri-
vado, ele fornecia os insumos necessrios para o fortalecimen-
to rentvel da economia como um todo (Przeworski, 1989, p.
56). Era esta a diviso entre Estado e mercado. Alm disso,
200
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
aplicando medidas pautadas pela teoria do bem-estar, atenuava
os efeitos concentradores de renda advindos do mal funciona-
mento do mercado. Harvey destaca uma enorme quantidade de
polticas pblicas resultantes destes conflitos sociais, das quais
podemos destacar:
a) a implementao das propostas de Keynes de uso do
poder estatal para a organizao do consumo, o que pode ser
vantajoso para a classe capitalista a longo prazo pois estabiliza
o mercado e a acumulao, atravs do uso dos fundos pblicos
para orientar determinadas atividades (juros com taxas menores,
subsdios);
b) sabendo que a produo e troca capitalistas so inerente-
mente anrquicas, o Estado desempenhou um papel importante
na regulao da competio econmica, no planejamento (capi-
talista coletivo), na regulao da explorao do trabalho, na le-
gislao de salrio mnimo, quantidade mxima de horas traba-
lhadas, estabelecendo um piso para os processos de explorao
e acumulao capitalista e inmeros direitos que constituram o
Ebes na Europa.
estado mnimo para os trabalhadores e mximo para o
capital na amrica latina: algumas notas sobre o perodo
ps-1970
A noo que o capitalismo alguma vez funcionou sem
o envolvimento estreito e firme do Estado um mito
que merece ser corrigido (Harvey, 2005).
Depois de golpes de Estado extremamente violentos que es-
trangularam a ascenso das lutas populares na Amrica Latina
dos anos 1950-1960, de perseguies, assassinatos e exlios nos
anos 1960-1980, os trabalhadores e o povo lutaram pela demo-
cratizao.
201
Henrique T. Novaes
Os anos 1980 e 1990 ficaram marcados pelo baixo cresci-
mento, estagnao do emprego com carteira assinada e exacer-
bao dos conflitos sociais. Mas somente nos anos 1990 que a
barbrie se configura em sua plenitude na Amrica Latina. Na
dcada de 1990, dcada vendida, na qual, alis, o crescimento
foi ainda menor do que o da dcada perdida, vivemos outra
estagnao econmica, processos de abertura comercial e a apli-
cao das polticas arquitetadas pelo Consenso de Washington e
consentidas pela nova correlao das foras de centro-direita as-
cendidas ao poder, que deu aval a estes processos. Os marxistas
tendem a chamar este perodo de contrarrevoluo
20
.
No Brasil, foram eleitos Collor e Fernando Henrique Car-
doso. Na Argentina, Carlos Menem privatiza a nao. A Amri-
ca Latina foi desindustrializada e desnacionalizada, tornando-se
uma colnia moderna.
Boron (1994, p. 14) nos lembra que, na Amrica Latina, a
redemocratizao veio acompanhada pela pauperizao de ex-
tensas faixas da sociedade civil. A questo crucial at que ponto
pode progredir e se consolidar a democracia em um quadro de
misria generalizada como o que hoje afeta as nascentes demo-
cracias sul-americanas, que corri a cidadania substantiva das
maiorias quando mais se exalta sua emancipao poltica.
O cenrio de misria latino-americano no mudou muito
depois que Boron escreveu estas pginas. No relatrio da ONU
de 2009, a Amrica Latina aparece como a regio mais desigual
da terra.
Foi no governo Mario Covas que So Paulo privatizou o
Banespa, a Comgs, a CPFL, a Cesp-Tiet e Eletropaulo, as ro-
dovias estaduais, a Telesp etc. Todas elas vendidas a preo de
20
Para aprofundar estes temas, ver o artigo de Lima Filho e Macedo nesta
coletnea e o artigo de Adilson Gennari.
202
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
banana, como se diz no linguajar popular, e com subsdios de
bancos estatais para a compra do patrimnio intencionalmente
desvalorizado. Nas palavras de Octvio Ianni:
Muito simbolicamente, o BNDES, que se havia criado de forma a
servir poltica de industrializao substitutiva de importaes,
nos moldes do projeto de capitalismo nacional, reorientado de
forma a favorecer a transnacionalizao, ou seja, ao desmonte do
projeto de capitalismo nacional. Simultaneamente, intensifica-se
a privatizao dos sistemas de ensino e de sade, ao mesmo tem-
po em que se redefinem as relaes de trabalho e as condies de
funcionamento da previdncia, de maneira a favorecer a transfor-
mao dessas esferas da questo social em espaos de aplicao
lucrativa do capital privado, no qual predominam as empresas,
corporaes e conglomerados transnacionais (Ianni, 2000, p. 52).
Para Francisco de Oliveira, que provavelmente concordaria
com Ianni,
Fernando Henrique Cardoso realizou o que nem a Dama de Fer-
ro [Margareth Thatcher] tinha ousado: privatizou praticamente
toda a extenso das empresas estatais, numa transferncia de ren-
da, de riqueza e de patrimnio que talvez somente tenha sido su-
perada pelo regime russo depois da queda de Mikhail Gorbachev
(Oliveira, 2009, p. 3).
E prossegue, num tom irnico: Essa turma se desfez do
melhor da estrutura do Estado longamente criada desde os anos
30, cortando os pulsos num af suicida sem paralelo na histria
nacional (Oliveira, 2009, p. 3).
tambm na dcada de 1990, em troca do apoio inter-
nacional para a realizao destas polticas e da estabilizao mo-
netria, que a Amrica Latina receber grandes fluxos de capital
financeiro de curto prazo (Santos, 2000).
A resposta dada a esta crise pelos Estados latino-ameri-
canos foi chamada pelos cientistas sociais de modelo neoliberal.
203
Henrique T. Novaes
Uma soluo apontada pelo neoliberalismo para a crise fiscal
foi a reduo gradativa da atuao do Estado para o exerccio
de certas funes. Entre outras, nessa poca que, para efetivar
essa mxima, o Estado produtor de bens e servios taxado de
ineficiente. Alguns autores latino-americanos resumiram esta
questo na seguinte expresso: Estado mnimo para os trabalha-
dores e para a soberania nacional, Estado mximo para o capi-
tal, principalmente para o capital financeiro
21
.
A adoo de polticas de ajustes estruturais pela Amrica La-
tina, na dcada de 1990, aprofundou o desmantelamento da estru-
tura salarial e trabalhista e a perda de direitos sociais e da proteo
social adquirida, conformando assim um aumento do desemprego,
do subemprego e, em linhas gerais, da excluso social, ou me-
lhor, de indigncia social e da dependncia (Santos, 2000).
Azpiazu e Basualdo (2001), ao analisar os impactos das
mudanas da dcada de 1990, observam que houve na Argentina
um aprofundamento dos processos de concentrao e centraliza-
o de capital, o que resultou na reconfigurao do poder eco-
nmico neste pas. A maioria das 200 maiores empresas est nas
mos do capital estrangeiro seja em funo da aquisio de em-
presas pblicas, seja atravs da associao aos pequenos grupos
nacionais. Para estes autores, so os conglomerados locais e
estrangeiros, principalmente em funo dos processos de privati-
zao, que se consolidaram como o ncleo hegemnico de poder
econmico na Argentina, adequando o Estado s suas necessi-
dades. Nesse contexto, surgem as polticas de responsabilidade
social e ambiental nas corporaes. Para Bernardo:
Precisamos traar com rigor a linha que divide os interesses dos
trabalhadores e os interesses dos capitalistas, e esta uma tarefa
21
Para este debate, ver Chesnais (2005). Para observar o papel dos sindicatos
no capitalismo financeirizado, ver a crtica de Bernardo e Pereira (2008) no
livro Capitalismo sindical.
204
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
tanto mais difcil quando no se trata de uma demarcao regu-
lar e estvel, mas, ao contrrio, de uma linha sinuosa e oscilante,
reconstruda em cada momento. Os apelos ao corao e tica
s confundem onde seria necessrio esclarecer. A administrao
de uma empresa pode, evidentemente, patrocinar a arte e as boas
causas, aplicar os princpios da nutrio racional no refeitrio
dos trabalhadores, por exemplo, e dirigir discursos humanistas
aos seus assalariados, assim como pode no praticar a corrupo
e no recorrer a fraudes. Mas este uso dos sentimentos e este pro-
cedimento tico em nada alteram os mecanismos fundamentais
de explorao (Bernardo, 2000)
22
.
Tal como nos informa a tese de doutorado de Isabella
Jinkings (2007), as transformaes recentes do capitalismo mun-
dial apontam para movimentos simultneos de privatizao e
desregulamentao da vida social e econmica, de ataque aos
direitos democrticos e de fortalecimento dos aparatos coerciti-
vos do Estado, caracterizando um Estado cada vez mais penal. A
adoo de polticas de segurana de tolerncia zero nos EUA
expressiva destes movimentos constitutivos da globalizao do
capital, sob o predomnio do neoliberalismo, que convertem am-
plos segmentos sociais em deserdados das condies bsicas
sobrevivncia (Jinkings, 2007).
Cada vez mais distanciado das polticas sociais e compro-
metido com o capital transnacional, contratando, nas palavras
de Acio Neves, ONGs, Oscips e Apacs para a elaborao de
diagnsticos, para a realizao de oficinas profissionalizantes
(...) e, com empresas privadas, na oferta de vagas de trabalho
[alienado] para presidirios e ex-detentos, o Estado neoliberal
apresenta-se crescentemente fortalecido em seus mecanismos re-
pressivos, fenmeno que alguns autores analisam como a emer-
gncia do Estado penal em substituio ao chamado Estado de
22
Sobre este debate, ver tambm o artigo de Renato Dagnino nesta coletnea,
Arantes (2004) e Montao (2002).
205
Henrique T. Novaes
bem-estar social europeu e o Estado com leves caractersticas p-
blicas na Amrica Latina.
Nesse sentido, o Estado cumpre uma funo fundamental ao
forar a privatizao das polticas pblicas que outrora estavam
sob seu comando. Essa parece ser a proposta do governador Acio
Neves, do prefeito Gilberto Kassab e dos governadores de So Pau-
lo ao colocar sob a esfera da rentabilidade do capital, disfarado
sob a roupagem de parcerias pblico-privadas e ONGs, os pres-
dios de Minas Gerais, e o ensino, no caso de So Paulo
23
.
Junto a isso, o Estado mantm sua funo de criao de
cursos profissionalizantes para que os presos voltem a trabalhar
normalmente, vendendo sua fora de trabalho, obviamente
sem voltar a desobedecer a ordem. Na mesma esteira, incenti-
va cursos de empreendedorismo tema muito em moda nos anos
1990, culpabiliza o indivduo pelo desemprego e propaga a peda-
gogia da qualidade total.
Sobre as pedagogias do capital que penetram no Estado ca-
pitalista, chama a ateno a disseminao da pedagogia toyotis-
ta no Estado. Para Miliband, o Estado, como o maior de todos
os empregadores, pode influir sobre o modelo de relaes in-
dustriais pela fora do seu prprio exemplo e comportamento
(Miliband, 1972). Temos ento a multiplicao de terceirizados
na Petrobras, nas escolas e universidades pblicas. Nesta esteira,
contratao de terceirizados em prefeituras, baixos salrios para
muitos trabalhadores pblicos e bons salrios com direitos ga-
rantidos para poucos. Em Ribeiro Preto, uma diretora de escola
pblica gabou-se por difundir estas prticas nas escolas pblicas
e disse em tom positivo: ns fomos a primeira escola a imple-
mentar as tcnicas toyotistas no Estado!
23
Para o debate sobre a inverso do crime, os episdios nos presdios no ano
de 2007 que paralisaram o Estado de So Paulo etc., ver Pinassi (2009, p.
87-94). Sobre a contrarreforma do Estado, ver Behring e Boschetti (2006).
206
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
Mariana Fix (2007) nos mostra em seu livro So Paulo Ci-
dade Global fundamentos de uma miragem como atua o Es-
tado no caso, a prefeitura de So Paulo, importante cidade da
Amrica Latina, que vem sendo dominada, com duas rarssimas
excees, h muito tempo por partidos conservadores que con-
trolam a prefeitura desde a ditadura militar. Nos anos 1990, o
Estado interventor a servio da acumulao de capital limpa
o caminho principalmente para a acumulao com predomi-
nncia financeira. Neste cenrio, os funcionrios pblicos, na
figura de planejadores urbanos, confundem-se com agentes
imobilirios. Quanto justia, cabe a ela a funo da remoo
de favelas, verdadeiro obstculo para valorizao de reas mili-
metricamente planejadas para a valorizao do capital.
Mas os condomnios e casas de alto padro o outro lado
da moeda da favelizao no seriam construdos se no houves-
se financiamento. Para esta pesquisadora, retomando as teses de
Francisco de Oliveira, os fundos pblicos nada mais so do que
a apropriao privada do dinheiro pblico, cada vez mais dire-
cionado para o mercado de alta renda, sendo financiado princi-
palmente pela Caixa Econmica Federal.
Para isso, nada melhor do que a confeco de Parcerias P-
blico Privadas (PPPs), onde o pblico entra com o dinheiro
para financiar as obras, na forma de socializao dos custos e
prejuzos, e o privado entra com os lucros exorbitantes.
Com a preciso digna dos grandes filsofos, o grupo O
Rappa comps a msica Minha alma, que serve muito bem
ao nosso objetivo de caracterizao das fraturas na sociedade
latino-americana, que divide as classes entre os que moram na
bolha condomnio de luxo e os que vivem nas favelas. Vejamos
ento a riqueza da msica:
A minha alma est armada e apontada para a cara do sossego,
pois paz sem voz no paz medo. s vezes eu falo com a vida,
207
Henrique T. Novaes
s vezes ela quem diz qual a paz que eu no quero conservar
para tentar ser feliz. As grades do condomnio so para trazer
proteo, mas tambm trazem a dvida se no voc que est
nessa priso. Me abrace e me d um beijo, faa um filho comigo,
mas no me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procu-
rando novas drogas de aluguel nesse vdeo coagido, pela paz
que eu no quero seguir admitindo.
Se nos perodo 1930-1970 o Estado funcionou em algu-
ma medida para os interesses pblicos, a partir dos anos 1980
o Estado deixa de funcionar para os trabalhadores, consoli-
dando o Estado mximo para o capital, principalmente para o
capital financeiro.
O ano de 2008 extremamente ilustrativo a este respeito,
pois at ento o Estado aparecia no discurso oficial neoliberal
como quebrado, sem recursos para investimentos de interesse
pblico. Como num passe de mgica, ele passa a ser bastante
generoso no socorro ao capital financeiro e/ou s grandes corpo-
raes falidas
24
. Se no sculo XIX Marx dizia que o executivo
do Estado moderno no mais do que um comit para dirigir os
negcios comuns de toda a burguesia, poderamos dizer que no
final do sculo XX, mas principalmente na crise de 2008, o Ban-
co Central no mais do que um comit para socorrer o capital
financeiro.
Na Europa, o desmonte parcial ou completo do Estado do
bem-estar social passa a representar um retrocesso histrico imen-
so diante das conquistas dos trabalhadores no sculo XX. Portu-
gal, Irlanda, Grcia e Islndia, acumulam dvidas impagveis.
Para socorrer o capital financeiro, a burocracia dos bancos
centrais rpida e eficiente. Para reprimir as greves e manifesta-
es a burocracia policial tambm rpida e eficiente, mas para
24
A esse respeito, ver o filme de Michael Moore Capitalismo uma histria
de amor.
208
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
implementar as demandas radicais dos movimentos sociais o Es-
tado lento e ineficaz.
Harvey (2005) observa ironicamente que o Estado no ps-
1970 promove o socialismo para os ricos atravs de auxlio fi-
nanceiro para as empresas e instituies financeiras pouco slidas,
corte de impostos para os ricos, presso pela racionalizao das
corporaes que levam diminuio do salrio dos trabalhadores,
disneyficao das cidades para atrair investimentos e turistas etc.
Em sntese, a partir da dcada de 1970, mas principalmente
nas dcadas posteriores, as grandes corporaes transnacionais
vo ganhando maior poder de determinao dos rumos do capi-
talismo, em contraste com a fase anterior (1945-1973) na qual o
Estado-Nacional conseguia exercer algum controle social sobre o
capital. O que presenciamos a partir de 1973 a crescente apro-
priao dos fundos pblicos pelo capital e a forte interveno do
Estado para garantir as condies de acumulao, principalmen-
te para a reproduo do capital financeiro.
Mas lembremos que o poder da ideologia conservadora
nem sempre funciona. Poderamos citar as lutas do Movimento
Sem-Terra, as revoltas dos trabalhadores na Grcia, Portugal, Es-
panha, e pases rabes que nos mostram claramente que a ideolo-
gia do progresso, a ideologia do estude e se qualifique que
voc vai encontrar emprego etc. j no cumprem seu papel num
capitalismo onde a misria e o desemprego entre os jovens au-
menta, a corrupo tende a no ser mais tolerada e a legitimidade
dos partidos polticos foi bastante abalada.
Por outro lado, no caso brasileiro, a integrao de parcelas
dos trabalhadores pela via do consumo de televises, celulares
etc. tem surtido um certo impacto na integrao de parcelas
dos trabalhadores na sociedade de consumo. No entanto, a po-
tncia ornitorrinca permanece unindo polos extremos, mesmo
agora com a ascenso da ideologia de classe mdia: os arranha-
cus no param de se multiplicar, a venda de helicpteros no
209
Henrique T. Novaes
para de crescer, assim como os condomnios fechados. No outro
extremo, escolas estatais de pssima qualidade em Alagoas, hos-
pitais em campo de futebol no Maranho, merenda de pssima
qualidade nas escolas estatais, permanncia de muitos trabalha-
dores no subemprego e em casas de pssima qualidade, mesmo
com uma renda um pouco melhor.
a necessidade de superao do estado, do capital e do
trabalho alienado
Zizek (2011) considera que uma das armas da direita para
mobilizar o eleitorado neste sculo XXI espalhar o medo, seja dos
imigrantes, dos vizinhos etc. Zizek (2011) e Almeyra (2011) desta-
cam o ressurgimento do fascismo na Europa, as polticas de estado
de exceo permanente, as guerras preventivas implementadas pelo
complexo militar e o surgimento do Tea Party nos EUA. Na In-
glaterra, diante da crise de 2008, alguns sindicatos conservadores
bradaram: British Jobs for British workers. Na Itlia, o primeiro-
ministro Berlusconi magnata das telecomunicaes promove
as festas bunga bunga e est envolvido at os dentes com a mfia
italiana. Na Sria, o ditador de uma famlia que comanda este pe-
queno pas h mais de 40 anos recorre a todos os instrumentos de
represso massiva para preservar seu poder: assassinato de lideran-
as, represso, impedimento de circulao de informao etc.
Os acontecimentos histricos narrados nas pginas acima
nos ajudam a refletir sobre o acirramento da barbrie nos lti-
mos 50 anos e nos ajudam a pensar que nunca antes foi to ur-
gente a superao da sociedade de classes, do Estado e do traba-
lho alienado (Mszros, 2002). Eles nos mostram a necessidade
de articularmos as lutas anti-capital dentro e fora do Estado, nos
mostram tambm a necessidade de retomarmos o debate sobre o
fenecimento do Estado, tema seminal na teoria marxista que este
artigo procurou retomar.
210
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
referncias bibliogrficas
ALI, T. O poder das barricadas. So Paulo: Boitempo Editorial,
2005.
ALMEYRA, G. Sic transit Gloria Mundi. Revista Margem Esquerda ,
n. 16, 2011.
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmao e a
negao do trabalho. So Paulo: Boitempo Editorial, 1999.
ARANTES, P. Zero esquerda. So Paulo: Conrad, 2004.
ARRIGHI, G. A iluso do desenvolvimento. Petrpolis: Vozes, 1997.
AZPIAZU, D.; BASUALDO, E. Concentracin econmica y regulaci-
n de los servicios pblicos. 2001. Disponvel em:
www.wilsoncenter.org/topics/docs/concentracin%20economica.doc.
Acesso em: jun./2007
BATISTA, E.; GOMES, E. A educao profissional no Brasil: algumas
notas sobre os anos 1930 1940. In: BATISTA, E. L.; NOVAES,
H. T. (orgs.). Educao e reproduo social: as contradies do
capital no sculo XXI. Bauru: Canal 6/Praxis, 2011.
BERNARDO, J. Capital Sindicatos e Gestores. So Paulo: Edies
Vrtice, 1987.
. Transnacionalizao do capital e fragmentao dos tra-
balhadores. So Paulo: Boitempo Editorial, 2000.
. Democracia totalitria: teoria e prtica da empresa sobe-
rana. So Paulo: Cortez, 2004.
; PEREIRA, L. Capitalismo sindical. So Paulo: Xam,
2008.
BORON, A. Estado, capitalismo e democracia na Amrica Latina .
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.
BEHRING, E.; BOSCHETTI, I. Poltica Social: fundamentos e hist-
ria. So Paulo: Cortez, 2004.
BUCI-GLUCKSMANN, C. Gramsci e o Estado: por uma teoria mate-
rialista da filosofia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
CHESNAIS, F. A mundializao do capital. So Paulo: Xam, 1996.
(org.). A finana mundializada. So Paulo: Boitempo Edi-
torial, 2005.
CHOMSKY, N. Os Intelectuais, o Estado e os meios de comunicao:
entrevista com Noam Chomsky. Democracia e Autoges to. So
Paulo: Humanitas/FFCLH, 1999.
CORIAT, B. Pensar pelo Avesso. Ed. UFRJ/Revan, 1994.
211
Henrique T. Novaes
COSTA, G.; DAGNINO, R. (org.). Gesto Estratgica em Polticas
Pblicas. Campinas: Tmaisoito, 2007.
DAGNINO, R. A indstria de defesa no Governo Lula. So Paulo:
Expresso Popular, 2009.
DAL RI, N. M.; VIEITEZ, C. G. Educao democrtica e trabalho
associado no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e
nas fbricas de autogesto. So Paulo: cone-Fapesp, 2008.
DIAS, E. Gramsci em Turim: a construo do conceito de hegemonia.
So Paulo: Xam, 2000.
DEL ROIO, M. Gramsci e o Trabalho como fundamento da hegemo-
nia. In: MENEZES NETO, A. J. et al. Poltica, trabalho e for-
mao humana. Interlocues com Marx e Gramsci. So Paulo:
Xam, 2009, p. 27-42.
DREIFUSS, R. 1964: A Conquista do Estado ao poltica, poder e
golpe de classe. Petrpolis: Vozes, 1981.
DRIA, P. Honorveis Bandidos: um retrato do Brasil na era Sarney.
Gerao editorial, 2009.
DUARTE, M. Reforma do Estado e administrao de pessoal: refle-
xes sobre a histria da poltica de gesto dos trabalhadores em
educao. In: OLIVEIRA, D. A. (org.). Gesto democrtica da
educao: desafios contemporneos. Petrpolis : Vozes, 1997, p.
246-263.
ENGELS, F. A origem da famlia, do Estado e da propriedade priva-
da. So Paulo: Editora Bertrand Brasil, 1991.
. A origem da famlia, do Estado e da propriedade priva-
da. So Paulo: Expresso Popular, 2008.
FALEIROS, V. P. A poltica social do Estado capitalista: as funes da
previdncia e da assistncia sociais. So Paulo: Cortez, 1980.
FARIA, Jos. H. de. Economia Poltica do Poder. Curitiba: Juru ,
2004.
FARIA, Maurcio S. Autogesto, Cooperativa, Economia Solidria:
avatares do trabalho e do capital. Tese (doutorado) Sociologia
Poltica. Florianpolis, UFSC, 2005.
FIX, M. So Paulo cidade global: fundamentos financeiros de uma
miragem. So Paulo: Boitempo, 2007.
FOSTER, J. B. Palestra proferida no 5 Encontro Brasileiro de Educa-
o e Marxismo. Florianpolis, abril de 2011.
FREITAS, L. C. A luta por uma pedagogia do meio: revisitando o con-
ceito. In: PISTRAK, M. M. A Escola-Comuna. So Paulo: Ex-
presso Popular, 2009.
212
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
FRIGOTTO, G. Educao e a crise do capitalismo real. So Paulo:
Cortez, 1995.
FURTADO, C. O Mito do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1974.
GRAMSCI, A. Cadernos do crcere. v. 4. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2001.
HARVEY, D. A teoria marxista do Estado. In: HARVEY, D. A produ-
o capitalista do espao. So Paulo: Annablume, 2005.
HOBSBAWM, E. A era do extremos. So Paulo: Companhia das Le-
tras, 1994.
IANNI, O. Estado e capitalismo. So Paulo: Brasiliense: 1989. 2 edi-
o.
JESSOP, B. O Estado e a construo de Estados. Revista Outubro ,
2007.
JINKINGS, I. Sob o domnio do medo: controle social e criminali-
zao da misria no neoliberalismo. Tese (doutorado) IFCH,
Unicamp, Campinas, 2007.
LACLAU. A especificidade da poltica sobre o debate Poulantzas Mi-
liband. Economy and Society n. 5, p. 87-110, 1975.
LENIN, V. I. Imperialismo, fase superior do capitalismo. So Paulo:
Alfa mega, 1986.
. Collected Works. Progress Publishers, 1976, v.33.
LOUREIRO, I. (org.) Rosa Luxemburgo Vida e Obra. So Paulo:
Expresso Popular, 1999.
LUKCS, G. Interveno no Congresso de Filsofos Marxistas de Mi-
lo. (Palestra). Milo, 1949.
. Histria e conscincia de classe. So Paulo: Martins Fon-
tes, 2003.
. Prolegmenos para uma ontologia do ser social. So
Paulo: Boitempo Editorial, 2010.
LUXEMBURG, R. A crise da social-democracia. Lisboa: Presena ,
1974 [1915].
MARX, K. Crtica da Filosofia do Direito de Hegel. So Paulo: Boi-
tempo Editorial, 2005.
MARITEGUI, J. Sete ensaios de interpretao da realidade perua-
na. So Paulo: Expresso Popular/Clacso, 2008.
MELO, T. Direito e ideologia: um estudo a partir da funo social da
propriedade rural. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
MSZROS, I. Produo destrutiva e Estado capitalista. So Paulo:
Ensaio, 1996.
213
Henrique T. Novaes
. Para alm do capital. So Paulo: Boitempo Editorial ,
2002.
. A educao para alm do capital. So Paulo: Boitempo
Editorial, 2004.
. O poder da ideologia. So Paulo: Boitempo Editorial ,
2005.
. A educao para alm do capital. So Paulo: Boitempo
Editorial, 2006.
MILIBAND, R. O Estado na sociedade capitalista. Rio de Janeiro :
Zahar Editores, 1972.
MINTO, L. W. O pblico e o privado nas reformas do ensino superior
brasileiro: do golpe de 1964 aos anos 1990. Campinas : Autores
Associados, 2006.
MONTAO, C. Terceiro Setor e questo social. Crtica ao padro
emergente de interveno social. So Paulo: Cortez, 2002.
NAVES, M. B. Marxismo e Direito um estudo sobre Pachukanis. So
Paulo: Boitempo Editorial, 2000.
NETTO, J. P. Introduo. In: MARX, K. Misria da Filosofia res-
posta Filosofia da Misria, do sr. Proudhon. So Paulo: Expres-
so Popular, 2009.
; BRAZ, M. Economia poltica: uma introduo crtica.
So Paulo: Cortez, 2004.
NOVAES, H. T. (org.). O retorno do caracol sua concha: alienao
e desalienao em associaes de trabalhadores. So Paulo: Ex-
presso Popular, 2011.
. A relao universidade-movimentos sociais na Amrica
Latina: habitao popular, agroecologia e fbricas recuperadas.
Tese (doutorado) Instituto de Geocincias, Unicamp, Campi-
nas, 2010.
; WIRTH, I.; FRAGA, L. A ponta inicial da rede de
agncias formativas: qual o papel dos desenhos animados na
sociedade de classes? Marlia, impresso (mimeo), 2011.
ODONNELL, G. Anotaes para uma teoria do Estado. Revista de
Cultura e Poltica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, (3), nov. 1980/jul.
1981.
OFFE, C. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1984.
OLIVEIRA, F. Noiva da Revoluo Elegia para uma re(li)gio. So
Paulo: Boitempo editorial, 2008.
. O avesso do avesso. Revista Piau, n. 37, outubro 2009.
214
Algumas notas sobre a concepo marxista do Estado capitalista no sculo XX
PINASSI, M. O. Da misria ideolgica crise do capital uma recon-
ciliao histrica. So Paulo: Boitempo, 2009.
PANICH, L.; LEYS, C. (orgs.). O novo desafio imperial. So Paulo:
Clacso, 2006. Disponvel em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.
ar/ar/libros/social/2004pt/social.html.
PISTRAK, M. M. (org.). A Escola-Comuna. So Paulo: Expresso Po-
pular, 2009.
PONCE, A. Educao e luta de classes. So Paulo: Cortez, 2010. 23
a
ed.
POULANTZAS, N. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro:
Edies Graal, 1985.
PREBISCH, R. O desenvolvimento econmico da Amrica Latina e al-
guns de seus problemas principais. [1949] In: BIELCHOWSKY ,
R. (org.). Cinquenta anos de pensamento na Cepal. Rio de Ja-
neiro, Record, 2000.
PRZEWORSKI, A. Capitalismo e social-democracia. So Paulo: Com-
panhia das Letras, 1989.
SADER, E. (org.) Ps-neoliberalismo as polticas sociais e o Estado
democrtico, 5 ed. So Paulo: Paz e Terra, 2000.
SAMPAIO Jr, P. Entre a nao e a barbrie. Petrpolis: Vozes, 2010.
SANTOS, T. Teoria da dependncia: balano e perspectivas. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000.
SAVIANI, D. Histria das ideias pedaggicas. Campinas: Autores as-
sociados, 2005.
SERGE, V. O ano I da Revoluo. So Paulo: Boitempo Editorial ,
2003.
SILVA, F. L. G. A fbrica como agncia educativa. Araraquara: Edito-
ra Cultura Acadmica-Unesp, 2005.
SACHS, I. Espaos, tempos e estratgias de desenvolvimento. So Pau-
lo: Vrtice, 1986.
SIMONSEN, R. Rumo verdade. So Paulo: Editora Ltda., 1933.
TRAGTENBERG, M. Administrao, poder e ideologia. 3 ed. So
Paulo: Editora da Unesp, 2005.
. Sobre educao, poltica e sindicalismo. 2 ed. So Paulo:
Editora da Unesp, 2006.
ZIZEK, S. A situao catastrfica, mas no grave. Revista Margem
Esquerda, n. 16, 2011, p. 43-63.
WALSH, R. Operao massacre. So Paulo: Companhia das Letras ,
2010.
215
Henrique T. Novaes
filmes
A Batalha do Chile. Diretor: Patrcio Guzmn
A classe operria vai ao paraso. Diretor: Elio Petri
A corporao. Diretores: Mark Ashbar e Jennifer Abbott
Capitalismo uma histria de amor. Diretor: Michael Moore
Germinal. Diretor: Claude Berri
Maranho 66. Diretor: Glauber Rocha
O Leopardo. Diretor: Luchino Visconti
Os companheiros. Diretor: Mario Monicelli
O Pas de So Saru. Diretor: Vladimir Carvalho
Rainha Margot. Diretor: Patrice Chreau
Videogramas de uma Revoluo. Diretores: Harun Farocki e Andrei
Ujica
216
217
os grilhes da gesto pblica: o processo
decisrio e as formas contemporneas de
dominao patrimonialista
di A. Benini
Elcio G. Benini
Henrique T. Novaes
introduo
Partindo do reconhecimento de que o atraso poltico, e o
uso reiterado de prticas contrrias ao interesse pblico, no ape-
nas persistem no cotidiano da gesto pblica brasileira, como
tambm se cristalizam na prpria estrutura do Estado e num de-
terminando conjunto de formas e canais de codeterminao na
relao Estado e sociedade, que procuramos discutir, no espa-
o deste texto, um elemento que talvez seja o pilar principal de
sustentao dos grilhes privados e patrimonialista da gesto
pblica: a problemtica dos dirigentes pblicos, especialmente no
que diz respeito aos processos decisrios de escolha, nomeao e,
por consequncia, de direo e avaliao do servio pblico.
Tendo em vista que, segundo uma considervel anlise de
importantes pesquisadores (Demo, 2006; Motta, 1986), a Admi-
nistrao Pblica no Brasil ainda estruturada por uma lgica
patrimonialista, advogamos que o principal determinante des-
te tipo de gesto pblica reside principalmente na dinmica dos
cargos de confiana de governo tambm conhecidos como
cargos de livre provimento que abrangem quase a totalidade
218
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
dos cargos de direo nas mltiplas organizaes estatais e de-
terminam decisivamente a natureza das aes do aparelho estatal
(Cmara, 2009).
Nesse horizonte, procuramos elaborar uma perspectiva ex-
plicativa e reflexiva, que possibilite clarear as razes e mecanis-
mos do atraso persistente na gesto pblica brasileira, e com isso
enfatizar a importncia e a pertinncia da problemtica da or-
ganizao do aparelho estatal, principalmente em relao luta
histrica por sua democratizao efetiva. Dito de outra forma,
evidenciar quais so os determinantes que impedem a superao
do Estado capitalista brasileiro.
A abordagem do objeto em questo foi composta por uma
linha argumentativa que, em um primeiro momento realizou
por meio de anlise histrica da realidade imediata a recupera-
o das principais questes tericas e estudos crticos do contex-
to brasileiro, tendo a perspectiva histrica como fonte de anlise
principal, em conjunto com uma apreenso preliminar, por meio
de fatos reiterados e notrios, das dinmicas estruturantes da
administrao pblica brasileira, sob um olhar crtico e inves-
tigativo, para que, em um segundo momento, o concreto fosse
reconstrudo, j no como um concreto imediato, mas como uma
sntese de mltiplas e complexas determinaes (Marx, 2003,
p. 248).
Apesar de aparente deficincia emprica, advogamos que,
ao apreender a realidade da administrao pblica brasileira, de
tal forma que seja possvel construir um objeto de estudo e uma
reflexo terica significativos e abrangentes, ainda que primei-
ra vista seja limitada no que diz respeito correta apurao de
dados e variveis (que muitas vezes no so disponibilizados),
pode-se perfeitamente buscar uma orientao investigativa, uma
vez que alguns fatos so de conhecimento pblico e notrio. O
problema reside exatamente em discernir o que tais fatos ocul-
tam o mundo das aparncias e o que esses mesmos fatos po-
219
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
dem revelar a busca da essncia dos fenmenos , permitindo
dessa forma recuperar o movimento e algumas dinmicas-chaves
de anlise, desde que corretamente compreendidas e confronta-
das com todo o conhecimento terico j acumulado.
Recorrendo a esse caminho dialtico, que vamos iniciar a
discusso, da temtica aqui proposta, primeiro lanando mo de
um esforo de agregar e compreender alguns fatos e notcias re-
correntes sobre o funcionamento da Administrao Pblica Bra-
sileira, passando em seguida para uma anlise mediada por cate-
gorias conceituais que articulem chaves essenciais de apreenso
do objeto de estudo, abrindo a possibilidade de uma posterior
sntese e/ou criao de novas matrizes explicativas.
a prxis da administrao pblica brasileira da aparncia
essncia
Questes latentes e perplexidades
Podemos observar, tanto nos grandes meios de comunica-
o como tambm em algumas perspectivas tericas de inspira-
o neoclssica ou liberal, a insistente desqualificao da esfera
pblica, taxada como sendo supostamente um lcus permeado
por ineficincias, pela pequena poltica, pelo comodismo por
parte dos servidores concursados, estrutura autorreferenciada de
controle e, enfim, com sendo o principal obstculo para o livre
desenvolvimento das foras produtivas e bem-estar geral.
Para estes, o Estado brasileiro visto como o grande cul-
pado da crise econmica dos anos 1980 e 1990 (as chamadas
dcadas perdida e vendida), explicao esta que pode ser ob-
servada claramente no Plano Diretor da Reforma do Aparelho
do Estado, que elege como vilo o Estado e suas formas de in-
terveno na reproduo material da sociedade (Brasil, 1995),
silenciando sobre outras questes advindas da prpria estrutura
220
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
econmica de uma nao subordinada, dependente e com vrios
projetos de sociedade (ou pura e simplesmente projetos de domi-
nao) em conflito ou disputa.
Um dos principais argumentos para justificar essa viso do
Estado como vilo a crtica, tambm persistente, de uma exces-
siva carga tributria, criando a imagem de que pagar impostos,
ou contribuir com o fundo pblico, um mal em si, sem nenhu-
ma referncia ou ponderao mais aprofundada dos significados e
problemticas da formao e distribuio da riqueza social.
De fato, h que se reconhecer que um grande desafio com-
preender, alm das aparncias ou vises imediatistas, por que
o Estado Brasileiro alcanou, no ano de 2009, uma carga tri-
butria prxima aos 34,28% do PIB (Produto Interno Bruto)
1
,
patamar este comparvel ao dos pases considerados desenvol-
vidos, mas ao mesmo tempo suas polticas pblicas, como um
todo, vm apresentando resultados e um retorno pouco satisfa-
trio para a populao. Ressaltamos que esse baixo retorno est
expresso em diversos indicadores, como baixo IDH (ndice de
Desenvolvimento Humano), alta concentrao de renda (confi-
gurando numa das sociedades mais desiguais do mundo) e altos
nveis de pobreza, marginalidade e violncia, conjuntamente com
uma srie de problemas estruturais em vrios setores, como no
sistema de sade, educao, desenvolvimento rural e infraestru-
tura, e um persistente ou mesmo crescente fluxo de riquezas para
o exterior, por meio ou do pagamento das obrigaes da dvida
pblica (que em 2010, segundo o movimento auditoria cidad
da dvida pblica, ultrapassou a marca dos 40% do oramento
pblico federal), ou na forma de remessas de lucros
2
.
1
Ipea. Nota tcnica. Estimativa da carga tributria de 2002 a 2009. Bra-
slia, 2010. Disponvel em: http://agencia.ipea.gov.br/images/stories/
PDFs/100312_nt16dimac_cargatributria.pdf. Acesso em 21 de mai. 2011.
2
Uma anlise abrangente de tais contradies est em Sics (2007) e Antu-
nes (2006).
221
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
Temos aqui tanto questes que dizem respeito eficincia
(melhor uso dos recursos) e eficcias (cumprimento dos objetivos
e metas) das aes da gesto pblica, como tambm questo da
efetividade (entendimento correto das causas de um problema)
das polticas pblicas analisadas em conjunto.
As explicaes das causas dessa realidade problemtica so
vrias e muitas vezes desencontradas. H desde argumentos ex-
cessivamente simplistas, at posturas ideolgicas de certa forma
preocupantes, como aquelas nas quais se declara que a prpria
ideia de bem pblico e democracia so custosos demais e barrei-
ras para o desenvolvimento
3
. No limite, dentro de tal lgica, o
atendimento s necessidades ou mesmo aos anseios de cada ser
humano e de cada cidado passa a ser visto como problema e
no como objetivo primordial de uma nao que quer ser mini-
mamente civilizada.
Sem desconsiderar uma anlise metodolgica de longo al-
cance, que evidenciam o carter predominantemente burocrti-
co e capitalista dos Estados Nacionais uma vez que boa parte
do fundo pblico est direcionado para interesses privados de or-
ganizar ou mesmo fomentar a acumulao de capital , mas ten-
do tais referncias como contexto do presente argumento, nossa
anlise elege as dinmicas de mdio alcance, do Estado, como
eixo de investigao e reflexo.
Dessa forma, considerando toda a reflexo crtica j acu-
mulada, especialmente no campo da cincia poltica e da socio-
logia, sobre a particularidade do Estado Brasileiro, entre outros
assuntos correlatos, nosso foco foi o de aprofundar esse debate
no que diz respeito dinmica da administrao pblica nos seus
determinantes decisrios.
3
De acordo com o pensamento liberal de Rousseau: Se houvesse um povo
de deuses, ele se governaria democraticamente. Um governo to perfeito
no convm aos homens (Rosseau, s/d, p. 80).
222
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
Isso porque entendemos que no intervalo entre as grandes
opes polticas e a ponta de execuo das polticas pblicas
existe um espao intermedirio de deciso que afeta diretamen-
te o grau de eficcia e eficincia das aes do Estado Brasileiro,
ou mesmo a prpria qualidade e postura dos trabalhadores do
aparelho estatal (servidores pblicos). Este intervalo pouco
percebido socialmente. Tal espao justamente o campo da ad-
ministrao pblica no seu aspecto mais delicado, a saber: o pro-
cesso decisrio e da distribuio do poder, estruturados na din-
mica de escolha dos dirigentes pblicos.
Nessa perspectiva, importante esclarecer que uma coisa
estruturar a direo macro poltica, econmica e ideolgica de
uma sociedade, opes estas que seriam, em princpio e no ex-
clusivamente, processadas e condensadas dentro da dinmica po-
ltico-eleitoral e determinadas pelas relaes sociais e estrutura
econmica. Outro ponto diz respeito como, e de que forma, sero
encaminhadas tais macrodiretrizes, o que implica tambm numa
forte dimenso de disputa poltica no sentido de formao do
interesse pblico dentro de um processo permeado por inme-
ras decises, estas no menos importantes.
Essa dimenso ou momento pautada pela arena adminis-
trativa e no, como nas grandes decises de Estado, pela arena
eleitoral, ou seja, nem a arena eleitoral reduz ou esgota o pro-
cesso poltico, e nem a arena administrativa prescinde ou est
ausente dele, ambos so momentos diferenciados e constitutivos
na concretizao do chamado interesse pblico ainda que tal
interesse no seja, de fato e a rigor, a expresso de uma vontade
geral.
a hegemonia da administrao pblica Gerencial
A Administrao Pblica Gerencial surge no contexto de
crise fiscal do Estado, que expressa, por um lado, tanto uma cri-
223
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
se econmica, logo, dificuldades de arrecadao e aumento do
custeio, e por outro, crise de pagamento da dvida pblica (com o
aumento expressivo dos juros). Aqui comea a ganhar mais fora
o Estado mnimo para os trabalhadores e o Estado mximo para
o capital, principalmente para o capital financeiro, que como vi-
mos, abrange parcelas crescentes do oramento pblico federal.
Nesse cenrio, o baixo crescimento e a crise da dvida dimi-
nuem a capacidade de investimentos pblicos, ao mesmo tempo
que potencializam as prticas patrimonialistas, que historicamen-
te veem no fundo pblico uma fonte para manter status e renda
em patamares elevados nos momentos de crise econmica gene-
ralizada. Trata-se ento de mltiplos passivos que determinam a
agenda pblica. Como consequncia, desencadeia-se um conjun-
tos de processos de desmonte de aes e prioridades pblicas e
precarizao das rotinas administrativas logo; evidenciaram-se,
num segundo momento, de forma explcita e quase insustentvel,
as falhas operacionais e um processo administrativo por demais
oneroso e formalista. justamente neste contexto no qual se ins-
creve a ideia-proposta de se constituir, no Estado brasileiro, uma
administrao pblica gerencial.
Tal proposta, inspirada no gerencialismo anglo-saxo,
inclui com ela uma tambm suposta noo de avano e progres-
so na gesto pblica, partindo do pressuposto que a adminis-
trao pblica patrimonialista foi completamente superada pela
administrao pblica burocrtica e que esta, por sua vez, seria
superada pela chamada nova administrao pblica ou adminis-
trao pblica gerencial. Em outras palavras, as propostas ad-
ministrativas da nossa elite sempre ganham um ar de novidade,
mas nunca tm como fundamento a superao do Estado capita-
lista brasileiro estruturado para manter o processo geral de acu-
mulao privado.
Nessa concepo gerencialista, o centro irradiador da ine-
ficincia estatal a burocracia, mas esta entendida tanto como
224
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
normas e formalidades, exigidas para todas as aes do setor
estatal, como tambm como corpo tcnico autorreferenciado, re-
presentado pelo conjunto dos servidores pblicos concursados.
Logo, para essa viso, burocracia sinnimo de papelada, for-
malismo, controles como um fim em si, de forma exaustiva e
quase irracional, sem priorizar os resultados, como tambm
sinnimo de um corpo tcnico dotado de estabilidade e, por isso,
acomodado, improdutivo e livre de quaisquer tipos de avaliao
ou responsabilizao perante a populao.
Tal concepo sobre o Estado e a Administrao Pblica
motivou um conjunto de reformas, que alcanaram desde uma
dimenso estrutural-patrimonial, como foram as privatizaes a
preos praticamente simblicos (em relao ao seu real patrim-
nio, rentabilidade e posio estratgica) que aniquilaram todo
um setor estatal produtivo, passando pela contra-reforma educa-
cional (novas teorias e vises sobre gesto pblica difundidas nos
cursos de graduao, livros, cursos de especializao etc.) at a
questo de gerenciamento propriamente dito, como a introduo
nos vencimentos dos servidores de gratificaes por desempenho
ou que variam o seu valor conforme algumas regras de controle
hierrquico ou avaliativo, alm das terceirizaes com salrios
baixssimos e sem direitos trabalhistas
4
.
Em linhas gerais, a construo do Estado mnimo para os
trabalhadores e mximo para o capital financeiro se d em trs
planos: no plano ideolgico, a retomada de ideias que ficaram
adormecidas at os anos 1960 a teoria neoclssica em oposio
aos ventos keynesianos que sopraram no ps-guerra. No plano
material, em polticas de baixo crescimento, abertura comercial,
polticas de favorecimento ao capital financeiro, privatizaes
etc.; no plano jurdico, a inconstitucionalidade, o atropelamento
4
Sobre este tema, ver Behring e Boschetti (2006) e o artigo de Felipe Silva
desta coletnea.
225
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
das leis republicanas. No que se refere criao de obstculos aos
movimentos de resistncia, a priso de lideranas de movimen-
tos sindicais ou sociais, fragmentao dos movimentos sociais e
chantagem ideolgica ou punio exemplar da contestao. Nes-
se sentido, em alguma medida a ideologia do burocrata maraj
encostado no seu trabalho sem fazer nada e vivendo s custas
do povo ajudou a preparar o terreno para o saqueio dos bens p-
blicos (Biondi, 1998).
neste ponto que vamos avanar um ponto nossa anlise,
especialmente tendo em vista algumas referncias fundamentais
de anlise.
dirigentes pblicos e processo decisrio
Em que pese todo o discurso da melhoria de desempenho e
aumento da eficincia do Estado, pode-se dizer que as reformas
promovidas no bojo da Administrao Pblica Gerencial am-
pliaram o carter burocrtico do Estado, uma vez que parte ex-
pressiva das decises a respeito de alocao de recursos, normati-
vas e prioridades de investimentos continuam concentradas, ou at
mesmo foi ampliada essa concentrao, na cpula da Administra-
o Pblica Federal, em especial nos cargos de livre provimento.
Nesses cargos so decididos no somente o montante de re-
cursos a ser utilizado, mas, sobretudo, a sua forma de utilizao,
metodologia de trabalho e prioridades/cronograma na alocao
das rubricas oramentrias disponibilizadas.
Obviamente que o oramento federal resultado de um ex-
tenso e minucioso embate poltico, envolvendo tanto o executivo
como o parlamento, mas com hegemonia do executivo, e como
resultado configura-se uma forma de repartio do fundo pbli-
co, tanto para a acumulao do capital (na forma de pagamento
dos servios da dvida ou aes que ampliem a mercantilizao
de necessidades sociais, como a habitao, a educao, para citar
226
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
apenas alguns exemplos), como na estratgia de governo (distri-
buio entre os ministrios e demais rgos pblicos das receitas).
Entretanto, o volume disponvel para um determinado rgo,
programa ou projeto no o determinante exclusivo do resultado
dessa poltica pblica. H que se considerar que existe um espao
considervel de decises que dizem respeito ao tempo, forma, me-
todologia, recursos humanos, entre outros aspectos prticos, que
podem potencializar ou, no sentido contrrio, instrumentalizar
e anular por completo o propsito de uma dada poltica pblica,
conforme a combinao desses diferentes fatores decisrios
5
.
justamente nessa arena decisria que est, no nosso argu-
mento, as determinantes do processo de elaborao e implemen-
tao das polticas pblicas, com uma considervel concentrao
decisria nos cargos de dirigentes pblicos. Nunca demais lem-
brar que esta caracterstica do Estado Brasileiro se arrasta desde
o Estado Colonial: para Konder (2006), as decises estratgicas
no Brasil sempre estiveram nas mos de poucas pessoas.
Mas um ponto importante a se destacar diz respeito a que
quase a totalidade dos cargos de dirigentes pblicos so tambm
cargos de livre provimento, ou seja, nomeados pelo critrio de
livre nomeao e exonerao do chefe imediato, que no limi-
te o chefe do executivo, tendo como nica exceo relevante
a escolha, por meio de votao, dos dirigentes das Instituies
Federais de Ensino Superior (Ifes), ainda assim tal exceo no
livre de outros embaraos e restries burocrticas ou polticas.
Basta lembrar, por exemplo, o caso recente da USP, em que o
5
Octvio Ianni (2004) atribui grande peso ao poder executivo brasileiro e suge-
riu, numa de suas ltimas palestras, que vivemos num contexto de contrarre-
voluo global que resultou na contrarreforma do Estado. Se no sculo XIX se
dizia que liberal e conservador so farinha do mesmo saco, provavelmente
Ianni diria algo parecido para o final do sculo XX, para demonstrar a ausn-
cia de grandes debates sobre o papel do Estado na economia, sobre onde gastar
os fundos pblicos, a existncia de partidos indistinguveis etc.
227
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
governador Jos Serra escolheu o segundo candidato mais vota-
do, numa eleio para reitor, o que em si uma deciso legal,
mas antidemocrtica.
importante evidenciar que, assim como acontece na dis-
tribuio do fundo pblico, tais escolhas so determinadas tam-
bm por uma sutil disputa poltica, dentro de uma arena dotada
de pouca transparncia e, provavelmente, baseada em vrias e
reiteradas barganhas imediatistas e/ou eleitoreiras. Nesta are-
na, tais cargos acabam por se converter em elementos de gover-
nabilidade no parlamento, o que refora o seu valor decisrio e
peso poltico, negociados com determinados agrupamentos po-
lticos em troca de apoio parlamentar ao governo, dado o rigor
legal-formal imposto ao executivo, obviamente este s pode go-
vernar com maioria parlamentar, dentro de uma lgica de pre-
sidencialismo de coalizo.
Dessa forma, os cargos de dirigentes pblicos, tanto do
primeiro escalo, como na gerncia mdia, ao contrrio de se
qualificarem como a ponte entre as grandes prioridades de uma
nao, com a sua execuo na ponta das polticas pblicas, tais
cargos se convertem, de forma hegemnica, em instrumento de
governabilidade no executivo e no parlamento, para o governo,
e instrumento eleitoral ou de poder, para o grupo de interesse
beneficiado.
Quadro 1: Quadro de referncia do poder executivo federal
Descrio Indicadores
Cargos de Direo de Assessoramento Superior DAS 21.281
Percentual de DAS sem vnculo com o Estado 27,5%
Total de Cargos Comissionados 23.874
Total de Cargos e Funes de Confiana e Gratificao 81.820
Total de Servidores Pblicos do Executivo Federal na ativa 869.752
Fonte: Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. Boletim Estatstico de Pessoal.
Maro de 2010.
228
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
Como podemos observar no quadro 1, h um quantitativo
expressivo de cargos de livre provimento em relao ao nmero
de servidores efetivos, como tambm h um peso excessivo de
funes gratificadas, o que refora ainda mais a diviso hierr-
quica do trabalho dentro do aparelho estatal, fortalecendo uma
lgica de governo/controle e no de Estado/espao pblico.
Alguns estudiosos apontam que na mdia, em pases
como Frana, Alemanha e Inglaterra, considerados pases de-
senvolvidos e com uma considervel rede de proteo social,
os cargos de livre provimento do executivo federal no passam
de 500, enquanto que no Brasil estamos na ordem de 23 mil.
Porm argumentamos que no apenas a quantidade, ainda que
esta seja de grande relevncia, pois pode se tornar facilmente
instrumento de cooptao de lideranas e eventuais oposito-
res, mas sobretudo a qualidade, a viso de mundo dos diri-
gentes e o peso decisrio desse cargos, que revelam a qua-
lidade da administrao pblica em vigor atualmente. Aqui,
caberia uma ampla pesquisa que verificasse em que medida a
destruio parcial ou completa do Estado do bem-estar social
e o concomitante avano do capital financeiro interferiram na
diminuio da participao dos trabalhadores na gesto pbli-
ca europeia, por exemplo.
Para John Pilger, o enfraquecimento da Carta dos Direitos
nos Estados Unidos, o desmantelamento do julgamento por jri
na Gr-Bretanha e de uma pletora de liberdades civis associa-
das so parte da reduo da democracia a um rito eleitoral: ou
seja, a competio entre partidos indistinguveis para ganhar a
administrao de um Estado de ideologia nica. O poder de
deciso da Suprema Corte em matria constitucional, o mono-
plio financeiro sobre a imprensa, a rdio, a Lei Patriota etc., os
enormes gastos eleitorais, que impedem eficazmente a formao
e o funcionamento de verdadeiros partidos democrticos junto
aos tradicionais monoplios capitalistas, o emprego de meios
229
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
terroristas pelo Estado, principalmente nos EUA, so sintomas
da falncia da democracia capitalista (Mszros, 2002; Pinassi,
2009)
6
. No difcil deduzir, ou mesmo de explicar, especial-
mente luz de vrios fatos notrios como denncias de abuso de
poder de superintendentes ou secretrios, que quando um cargo
pblico vem a ser instrumentalizado como meio de poder de um
ator social, ou mesmo de um grupo poltico, este cargo ser torna
praticamente uma propriedade privada, ou seja, lgica e prticas
eminentemente patrimonialistas. O poder dos grupos polticos
pode se manifestar tanto em favorecimentos e outros mecanis-
mos de privatizao do setor pblico, como tambm em estrat-
gias eleitorais
7
.
Logo, os ocupantes de um cargo de livre provimento ten-
dem a instituir verdadeiros feudos para defender seu posto,
construindo um conjunto de estratgias no intuito de evitar mu-
danas e manter o status quo. Com isso, a preocupao com a
melhoria do servio pblico fica relegada para o segundo plano,
sendo instrumentalizada para aquela prioridade.
Podemos elencar tais estratgias de manuteno do poder
em vrias perspectivas, como a centralizao de informaes e
decises impondo o mximo de dependncia possvel de to-
dos os seus subordinados e tambm na forma de se avaliar os
servidores pblicos, por parte dos cargos de livre provimento,
6
Algumas pistas sobre este tema podem ser vistas nos artigos de Adilson
Gennari e Paulo Lima Filho que fazem parte desta coletnea.
7
Basta ver, por exemplo, o peso das famlias Sarney, Jereissatti, e inmeras
oligarquias regionais recompostas no ps 1964. Sobre a famlia Sarney, re-
centemente foi lanado o livro Honorveis Bandidos um retrato do Brasil
na era Sarney, de Palmrio Dria (2009) que ajuda a reconstituir a hist-
ria dessa famlia, seu peso no Estado do Maranho, no Governo Federal, as
indicaes no Ministrio de Minas e Energia, assassinatos de inimigos etc.
Talvez o caso mais estarrecedor, sob o ponto de vista da ausncia de con-
cursos pblicos, a (de)formao do Estado do Tocantins, provavelmente o
Estado com maior nmero de cargos indicados.
230
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
que tendem a seguir a mesma lgica de confiana e lealdade ao
chefe, e no o critrio de comprometimento e profissionalismo
para com o servio pblico. Obviamente que tal meritocracia
invertida fonte de desmotivao, perplexidade e principalmen-
te de alienao do trabalho, dessa forma, h pouco ou mesmo
nenhum incentivo a ideias inovadoras, impedindo o crescimento
profissional de quem poder ser, sob a lgica de cargos de con-
fiana, uma futura ameaa ao seu status.
Dessa forma, o conjunto dos servidores pblicos concursa-
dos tendem ou a uma estratgia defensiva, ou a se resignar lgi-
ca dominante, ou simplesmente cede ao pragmatismo de seguir
as formalidades e receber o salrio, fatos confundidos com os
esteretipos de preguia, comodismo ou incompetncia,
como se tais qualidades fossem inerentes ao servio pblico, e
no frutos da nossa histria, frutos de um tipo de trabalho alie-
nado e instrumentalizado, tendo como consequncias a forma-
o reiterada de um tipo de servidor vinculado manuteno do
status quo.
principais referncias tericas para uma abordagem crtica
sobre a administrao pblica
Para reforar os argumentos j esboados anteriormente,
imprescindvel recuperar, no seu contexto e integridade, parme-
tros de anlise a respeito da Administrao Pblica. Dessa forma,
destacamos os conceitos de Administrao Pblica Patrimonia-
lista, Administrao Pblica Burocrtica, Administrao Pblica
Neopatrimonialista e Administrao Pblica Ps-burocrtica.
Como nos ensinam Motta (1980, 1986) e Tragtenberg
(1974), os estudos sociolgicos de Max Weber sobre a buro-
cracia no significaram que este pensador inventou a lgica
ou os princpios burocrticos, e menos ainda que a defendes-
se como modelo de sociedade ou de organizao. Em geral, h
231
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
uma confuso a respeito do mtodo de tipo ideal de investiga-
o cientfica elaborado por Weber, com uma suposta viso de
burocracia weberiana, como se o fenmeno burocrtico tivesse
sido idealizado ou inventado por ele. Na realidade, para se com-
preender tal fenmeno social, Weber buscou isolar as diversas
caractersticas, observadas nas organizaes, e condens-las ao
que ele chamou de tipo ideal, ou seja, a lgica burocrtica na
sua configurao mxima, composto por todos os instrumentos
e mecanismos de dominao racional-legal inventados em dife-
rentes momentos e situaes histricas
8
.
Dessa forma, longe de significar apenas uma forma de or-
ganizao ou de administrao, a burocracia caracterizada por
ser um sistema social de dominao, baseada na separao ele-
mentar entre concepo e execuo do trabalho, numa relao
hierrquica de subordinao, seja no Estado ou nas corporaes.
Nesse horizonte, Motta (1986) argumenta que a lgica burocr-
tica , em ultima anlise, alienante e irracional, pois a sua supos-
ta racionalidade est referenciada apenas no escopo limitado do
controle hierrquico e na finalidade de acumular capital, e no
em quaisquer parmetros de avaliao mais amplos de retorno
social ou efetividade. Nas palavras de Motta:
Todo sistema social administrado segundo critrios racionais e
hierrquicos um organizao burocrtica. Haver organizaes
burocrticas mais flexveis ou mais rgidas, mais formalizadas ou
menos, mais ou menos autoritrias. Mas todas sero organiza-
es burocrticas desde que o sentido bsico do processo decis-
rio seja de cima para baixo (Motta, 1980, p.13).
Seguindo os passos desse autor, em ltima anlise teramos
trs variaes ou formas de organizao burocrtica:
8
Para os limites da crtica de Weber burocracia, ver Tragtenberg (1974) e
Behring e Boschetti (2006).
232
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
Temos pelo menos a organizao burocrtica patrimonial, pr-
capitalista; a organizao burocrtica clssica, racional-legal,
disciplinadora; a organizao burocrtica tecnocrtica, orienta-
da para a produo (...) Todas, entretanto, so antes de tudo or-
ganizaes burocrticas porque administradas segundo critrios
de eficincia e forma hierrquica, estruturando-se o poder sem-
pre de cima para baixo (Motta, 1980, p. 13).
Motta completa seu raciocnio com a seguinte reflexo:
Isso no significa, entretanto, que no exista nenhuma alternati-
va para a organizao burocrtica. Ela existe exclusivamente na
forma de organizao democrtica ou autogestionria em que a
racionalidade administrativa se expressa no sentido inverso, de
baixo para cima (Motta, 1980, p. 13).
Podemos observar claramente que uma forma de adminis-
trao pblica ps-burocrtica somente seria possvel na forma
de uma organizao efetivamente democrtica ou autogestion-
ria, que combine lutas de curto, mdio e longo prazo rumo a uma
sociedade para alm do capital (Mszros, 2002). Ainda segundo
Mszros (2002), o processo de construo de uma sociedade
para alm do capital deve abarcar todos os aspectos da inter-
relao entre capital, trabalho alienado e Estado.
Podemos observar que a revoluo burguesa supertardia
promovida por Getlio Vargas, no foi linear, incorporando-se
vrios aspectos do velho no novo, sem excluir totalmente
do jogo poltico as foras do Brasil agrrio-exportador
9
. Logo,
a introduo de imperativos produtivistas, especialmente para se
viabilizar um processo de industrializao e modernizao capi-
talista no Brasil, levou incorporao de vrios elementos tecno-
crticos, ou seja, de uma burocracia centrada na produo, cuja
9
Para este debate, ver o artigo de Fabiana Rodrigues escrito com Paulo Lima
Filho que faz parte desta coletnea e o livro de Prado Jnior (1977).
233
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
racionalidade reside em potencializar os meios mais adequados
para este fim, sem superar mecanismos de dominao patrimo-
nialistas, que acabam por ser sofisticados ou disfarados em
outros artifcios menos bvios. Basta ver a introduo de elemen-
tos tayloristas no Estado brasileiro dos anos 1930-1940
10
.
Nesse sentido, muda-se a forma de organizao, e os seus
objetivos, sem se mudar a lgica de dominao de cunho essen-
cialmente burocrtico, ou seja, processo decisrio de cima para
baixo.
Porm, pode-se observar que a conciliao entre uma bu-
rocracia de controle, com uma burocracia de produo (o pensa-
mento e a prtica tecnocrtica nas empresas e corporaes), nem
sempre se caracteriza como um processo livre de embaraos ou
antagonismos. Enquanto que nas formas pr-capitalistas de buro-
cracia o quesito central era a eficcia do controle, j na sua matu-
rao em burocracias de produo sua racionalidade est vincu-
lada eficcia no aumento da acumulao, que potencializada
pela ideia de eficincia administrativa ou gerencial, que busca o
melhor resultado com o menor custo ou esforo possvel.
Vale ressaltar que tal racionalidade da lgica burocrtica,
como esclarece Motta em algumas das suas obras (1980 e 1981),
diz respeito a um fim determinado, ou seja, produo capitalis-
ta. Logo, neste contexto, ganha relevo a ideia de eficincia dentro
da organizao burocrtica, que busca potencializ-la, e no di-
ficultar a mesma por meios de exigncias formais e mecanismos
de controle. Tais restries ou embaraos so antes uma disfun-
o dos processos administrativos, ou mesmo um atrito com a
formao anterior de burocracia patrimonialista, do que sinni-
mos da prpria ideia de burocracia, confuso muito comum entre
as pessoas em geral.
10
Para as tentativas de modernizao da burocracia brasileira no sculo XIX,
dentro da rbita do capital, ver Candido (2001).
234
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
Tambm importante evidenciar que eficincia da produo
capitalista tem a ver com a eficcia da acumulao de capital, e
no se confunde com eficincia produtiva e eficcia econmica.
Na eficincia da produo capitalista ou eficcia acumula-
tiva (que determina a racionalidade burocrtica), busca-se o me-
nor custo possvel com a mercadoria fora de trabalho, e uma
maior apropriao possvel de riqueza nas mos de poucas pes-
soas. Logo, o objetivo no produzir coisas teis ou necessrias
s pessoas, mas to somente valores de troca; com isso, quanto
menor o tempo de vida de uma mercadoria, e mais acelerada for
a rotao de uma necessidade ou ciclo produtivo, mais produo
e, consequentemente, desperdcios so criados, e com isso, maior
acumulao atingida Mszros, 2002)
11
.
Ao contrrio, uma lgica de eficincia produtiva e eficcia
econmica implica, a rigor, a reduo do desperdcio e o aumento
do tempo de vida til dos valores de uso fazendo definhar o ca-
rter de mercadoria dos bens produzidos. Adicionalmente, bus-
cam-se maiores resultados em termos de bem-estar e satisfao
dos seres humanos, caractersticas necessrias para a construo
de uma sociedade para alm do capital. Porm, ao se pensar em
um conjunto societal, necessrio tambm compreender as inter-
conexes dos diferentes aspectos da reproduo social, dentro de
uma viso de totalidade.
Com isso, ganha relevo tambm o conceito de efetividade
societal, que significa a escolha acertada das prioridades e das
aes cujo impacto, no longo prazo e no conjunto de uma socie-
dade, seja o melhor possvel em termos de satisfao e avano
social ou qualidade de vida para todos os membros dessa mesma
sociedade.
Portanto, com base em tais referncias e estudos, podemos
afirmar que a administrao pblica burocrtica no supera a
11
Sobre isso, ver Mszros (2002).
235
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
administrao pblica patrimonialista, mas sim se sobrepe com
elementos de fuso, constituindo o neopatrimonialismo, mas
tambm com elementos divergentes ou conflituosos, entre as ne-
cessidades de eficincia e as de controle. Em todos os casos e va-
riantes, a lgica burocrtica permanece a mesma, sem alterao
na sua essncia.
Tendo em vista esse rigor conceitual, que questiona-
mos, assim como outros pesquisadores (Paula, 2005; Behring e
Boschetti , 2006 e Nogueira, 2005), os fundamentos ou mesmo
a validade da proposta de administrao pblica gerencial. Tal
proposta supostamente deseja, ou mesmo afirma, ser capaz de
superar a lgica burocrtica, como se esta ltima j tivesse su-
perado a lgica patrimonialista. Como vimos, o foco da admi-
nistrao pblica gerencial passa a ser a eficincia nos processos
administrativos, por meio de um conjunto de estratgias, com
destaque busca por maior autonomia na aplicao de recursos
por parte do gestor, gratificaes de desempenho, reduo ou
extino do estatuto da estabilidade, terceirizaes, desconcen-
trao ou descentralizao do aparelho estatal, simplificao de
processos e exigncias formais, entre outros. No limite, temos
por parte destes uma crtica que no to crtica, vinda de um
dos intelectuais da elite paulista interessados na reproduo do
modo de produo capitalista, como explica Paula:
A crise do nacional-desenvolvimentismo e as crticas ao patri-
monialismo e autoritarismo do Estado brasileiro estimularam a
emergncia de um consenso poltico de carter liberal que se ba-
seia na articulao entre a estratgia de desenvolvimento depen-
dente e associado, as estratgias neoliberais de estabilizao eco-
nmica e as estratgias administrativas dominantes no cenrio
das reformas orientadas para o mercado (Paula, 2005, p. 117).
Apesar de existir, de fato, uma srie de estratgias para a
reforma do Estado, e melhoria da administrao pblica, dentro
236
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
do contexto da proposta da administrao pblica gerencial, a
nossa anlise de que h um peso expressivo sobre a figura do
servidor pblico, em meio a pontuais melhorias de processos, re-
forando uma viso superficial de que ele o grande responsvel
e causador de grande parte do atraso e dos problemas na gesto
pblica brasileira. Esta estratgia ideolgica que atribui ao servi-
dor pblico a culpa pela ineficincia do Estado brasileiro, des-
considerando ou subestimando o papel dos dirigentes polticos
na determinao das polticas de dominao pblicas, tem sido
extremamente eficiente nos ltimos 40 anos.
Nesse horizonte, no nosso entendimento, tal postura s veio
a contribuir para se consolidar um conjunto de informaes dis-
torcidas e desencontradas, que confluram na construo do sen-
so comum no qual o servidor pblico , a priori, incompetente,
indolente, possuidor de vrias regalias e privilgios, e, por conse-
quncia disso tudo, causador direto da ineficincia e ineficcia do
servio pblico brasileiro. Nessa mesma viso, subestima-se ou
se ignora o processo de escolha, ou mesmo de responsabilizao
e controle dos dirigentes pblicos. Logo, no objeto de reflexo
e problematizao.
Por outro lado, como tpico da diviso hierrquica do tra-
balho e essncia das organizaes burocrticas, nas reformas
da administrao pblica gerencial , houve uma concentrao
ainda maior de poder decisrio na cpula do poder executivo,
ampliando a diviso entre a concepo e execuo do trabalho,
como descreve Paula ao analisar as reformas gerenciais no con-
texto do governo Fernando Henrique Cardoso:
Essas caractersticas so confirmadas quando analisamos a es-
trutura do aparelho do Estado ps-reforma, pois seguindo as
diretrizes da nova administrao pblica, efetivou-se uma clara
concentrao do poder no ncleo estratgico. Apostando-se na
eficincia do controle social se delega a formulao de polticas
pblicas para os burocratas. O monoplio das decises foi con-
237
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
cedido s secretarias formuladoras de polticas pblicas e a exe-
cuo atribuda s secretarias executivas, aos terceiros ou s or-
ganizaes sociais, de acordo com o carter da atividade (Paula,
2005, p. 142).
a partir desse artifcio, de centralizao do poder decis-
rio, que a viso gerencial vem a eleger a estabilidade do servidor
pblico como a causa determinante ou central de um conjunto
de sequelas e posturas que vo desde o comodismo at o simples
descaso para com a populao usuria dos servios pblicos
12
.
Nesse horizonte, temos uma lgica hegemnica e simplista na
qual se o problema est identificado, basta passar a sua soluo,
ou seja, eliminar a estabilidade e implantar mecanismos de ava-
liao e controle por meio de gratificaes de desempenho. Nes-
se sentido, a relao poltica, inserida no conjunto de interesses
antagnicos dos quais o Estado arena dos conflitos, acaba-se
tornando lcus de causa e efeito, numa perspectiva claramente
fetichizada, determinista e positivista.
Advogamos aqui que estamos vivenciando um quadro geral
de desmotivao ou mesmo de perplexidade dos servidores p-
blicos. Porm, queremos revelar que tal fato, mais que causa da
ineficincia da mquina pblica, provavelmente deva ser ex-
plicado ou compreendido, junto com todos os problemas que a
administrao pblica brasileira enfrenta, como consequncia da
organizao burocrtica ou, num plano mais amplo, da confor-
mao histrica brasileira, e no fruto de uma pseudodetermi-
12
Contudo, deve-se ressaltar que no perodo de 1930-1985, as elites brasi-
leiras precisaram construir um Estado com funcionrios concursados e es-
tveis. Essa a ironia da histria brasileira. A partir de 1985, mas princi-
palmente nos anos 1990, em funo da sede e velocidade de saqueamento
imposta pela acumulao de capital, as foras que passam a controlar nossa
sociedade, passam a condenar o Estado que outrora lhes serviu, obviamen-
te com muitos interesses na privatizao de bens pblicos. Sobre isso, ver
Behring e Boschetti (2006), alm de Ianni (2004).
238
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
nante estabilidade e formalismo no servio pblico simplesmente
declarada pelos idelogos do capital.
Como a lgica burocrtica no se reduz a formalismos, pa-
pelada, entre outros, mas, sobretudo, diz respeito a um sistema
social de dominao, de base hierrquica estruturada de cima
para baixo, que advogamos que, pelo menos, um ponto rele-
vante a ser considerado reside no processo decisrio e na lgica
da distribuio do poder organizacional, centrados nos cargos
de livre provimento, inclusive como fonte de estranhamento de
servidor pblico para com os usurios do servio pblico, e para
com o seu prprio trabalho, gerando vrias situaes de aliena-
o ou resignao, conforme explica Motta:
No esforo cotidiano de manuteno e expanso do poder, o bu-
rocrata defende-se dos aspirantes s posies de dirigentes. Em
princpio um aspirante um ameaa. Especialmente ameaa-
dor o aspirante competente. Por essa razo, comum a opo
pelos medocres, salvo em casos de demonstraes seguidas de
submisso oligarquia por parte dos aspirantes competentes.
Os rituais de passagem nas organizaes burocrticas implicam
demonstraes de submisso que devem representar a garantia
de que o aspirante ao grupo no o ameaar, mas ao contrrio,
contribuir para a sua perpetuao. Com frequncia, a admis-
so de novos membros passa tambm pelo nepotismo, que ga-
rante que laos externos organizao, presos ao ordenamen-
to social da famlia ou do grupo de amizade, contribuam para
a reproduo ampliada da oligarquia organizacional (Motta,
1989, p. 60).
Negando o dualismo simplista de dirigentes competentes
e servidores indolentes, ou ao contrrio, dirigentes espoliado-
res e servidores inocentes, o que os estudos organizacionais
sobre a lgica burocrtica ou burocracia patrimonialista demons-
tram a complexidade de artifcios e situao para a manuteno
do poder e privilgios de uma classe, fraes de classe ou grupo
239
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
social, que instrumentalizam o prprio aparelho do Estado para
garantir seus interesses privados
13
.
Inclusive neste antagonismo de interesses ou, como ensina
o materialismo histrico, de luta de classes, temos tambm ou
necessariamente a formao de uma classe de burocratas, que
constituda com a funo de garantir a harmonia entre as
classes em conflito ou mesmo evitar que tal conflito se desembo-
que na barbrie, porm que tambm ganha uma complexidade e
dinmicas prprias em funo das particularidades histricas de
cada pas, mas, vale reforar, sempre derivadas dos antagonismos
que estruturam um sistema de dominao de uma classe ou fra-
o de classe sobre o conjunto da sociedade.
Contudo, podemos considerar a proposta de adminis-
trao pblica gerencial como insuficiente ou ideologicamente
comprometida com a manuteno da sociedade de classes, pois
parte de uma questo equivocada: que a burocracia a causa da
ineficincia das aes pblicas, quando essa mesma lgica pau-
tada pela eficincia e racionalidade. Porm, como vimos, estes
elementos so referentes e vinculados ao objetivo estruturante da
acumulao capitalista.
Claro que so necessrios mecanismos administrativos de
deciso e articulao, para o melhor uso possvel do tempo, re-
cursos e do trabalho, buscando a melhor equao custo-bene-
fcio, ou seja, buscando o mximo de eficincia, mas o tipo de
eficincia, conforme j argumentado e discutido, estrutura-
do pelo modo de produo hegemnico, logo, pelo resultado das
13
Em outro artigo, pretendemos abordar as formas democrticas e autoges-
tionrias que existiram na histria da humanidade e que tentaram em al-
guma medida implementar algumas solues para a superao do Estado
capitalista, a separao entre dirigentes e dirigidos etc. Isso pode ser visto,
por exemplo, na Comuna de Paris (1871), no incio da Revoluo Russa, na
Revoluo dos Cravos em Portugal (1974-75), no Chile de Allende (1971-
1973), dentre outros.
240
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
relaes sociais existentes, sendo a qualidade do processo decis-
rio um componente crucial deste resultado.
Logo, o problema posto pela proposta da administrao
pblica gerencial est no mnimo mal formulado. Sendo assim,
levando em conta que, em ltima anlise, a problemtica da ges-
to pblica sntese de mltiplas determinaes e contradies
insolveis dadas as mediaes de organizao social; a) diviso
social e hierrquica do trabalho, b) produo baseada no valor
de troca, c) propriedade privada dos meios de produo e d) con-
trole das decises estratgicas da sociedade por uma tecnocracia
empresarial ou estatal impostas pelo sistema sociometablico do
capital, que justificamos a proeminncia de se compreender os
mecanismos de composio da diviso hierrquica do trabalho
dentro do aparelho estatal brasileiro.
Se para os tericos do gerencialismo quem deveria supor-
tar com os passivos (literalmente pagar o pato) deveria ser a
burocracia estvel e os sindicatos dos trabalhadores, os autores
marxistas procuram mostrar quais os blocos de poder que con-
duziram a sociedade civil e o Estado, quais as motivaes para
se condenar algo que outrora lhes serviu, sem desconectar o
Estado como produto e produtor da nossa sociedade.
Nesta perspectiva de anlise e argumentao, indo alm da
superfcie dos vrios dados e informaes dispersas, que evi-
denciamos a questo do processo decisrio como determinan-
te de uma administrao pblica burocrtica patrimonialista.
Em particular, pela forma como hoje esto organizados e so
nomeados os cargos de confiana ou como so escolhidos, ava-
liados e controlados os dirigentes pblicos (espao decisrio cha-
ve da arena administrativa), e no dentro de uma viso reducio-
nista, simplista e estereotipada, pelo estatuto da estabilidade do
servidor pblico (em conjunto com um apego excessivo a forma-
lidades) que supostamente seria, a priori, causa de comodismo,
atraso e desmotivao.
241
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
consideraes finais: por um controle democrtico dos
dirigentes pblicos
Procuramos argumentar, ao longo do texto, que a questo
da burocracia est mal colocada, gerando uma srie de equvocos
que podem, inclusive, dificultar o processo histrico de luta pelo
autogoverno pelos produtores associados e pela democratizao
efetiva da riqueza social.
Dessa forma, vimos que nem a administrao pblica ge-
rencial supera a lgica burocrtica, e nem esta superou a admi-
nistrao pblica patrimonialista. Ao contrrio desse processo
linear, o que se pode observar a constituio de um patrimnio
pblico, a chamada repblica, ou a separao jurdica entre o
pblico e o privado, que implica na sofisticao da administra-
o pblica patrimonialista na forma de organizao burocr-
tica (formalismo, impessoalidade, entre outros). Entretanto, no
que tange ao processo decisrio, os interesses hegemnicos so
claramente os de alguns grupos privados, ou seja, h ainda a
proeminncia do patrimonialismo como lgica estruturante da
administrao pblica, ainda que esta assuma uma forma buro-
crtica ou gerencial.
Superar uma base jurdica, da riqueza social, aprisionada
na forma burocrtica, bem como um tipo de processo decisrio
essencialmente patrimonialista, por definio, somente seriam
possveis por meio da autogesto social.
Longe de banalizar o conceito de autogesto e reduzi-lo a
formas de participao das mais variveis, e muitas vezes me-
ramente formais, necessrio ter como referncia a democracia
substantiva ou democracia direta como, simultaneamente, fun-
damento da, e estruturada por, autogesto efetiva.
Dessa forma, consideramos que um ponto crtico, para se
avanar nas lutas emancipatrias e no prprio processo de demo-
cratizao da administrao pblica e superao do Estado capi-
242
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
talista, diz respeito forma de escolha e avaliao dos dirigentes
pblicos. Nesse horizonte, seria importante buscar uma proposta
que supere, ontologicamente, as dinmicas patrimonialistas de
manuteno da dominao burocrtica.
Neste caso, falta espao para que a sociedade civil parti-
cipe, de forma consistente e progressiva, da gesto do setor pbli-
co e dos assuntos vitais da sociedade
14
. E essa participao no
deve ser apenas de cunho legitimador, eventual e pautada previa-
mente pelos poderes do Estado, mas ela prpria precisa aglutinar
outro tipo de poder.
Logo, necessrio avanar para um tipo de participao di-
reta, com capacidade deliberativa e procedimentos democrticos
prprios, inclusive para um aprendizado coletivo sobre o que vem
a ser um viver democrtico; enfim, trata-se de desenhar um
novo espao pblico. Nos casos onde impossvel a democracia
participativa, teremos que reforar mecanismos de democracia
representativa com rodzio e revogabilidade dos cargos, nos quais
a sociedade civil possa tambm exercer, diretamente, o seu pa-
pel de titular da coisa pblica. Bandeiras como a revogabilidade
dos cargos, justia no separada do povo, a ausncia de diferen-
ciaes abismais entre funcionrios pblicos e trabalhadores fo-
ram levantadas na Comuna de Paris e podem ser atualizadas no
sculo XXI.
Tal espao poderia ser perfeitamente criado a partir da re-
qualificao dos conselhos gestores setoriais ou temticos j exis-
tentes, criao de conselhos operrios adaptados para este sculo
XXI (Martorano, 2011), alm das vrias formas de oramento
14
Sobre este rico debate, ver o livro de Martorano (2011) chamado Conselhos
e democracia em busca da participao e da socializao. Neste livro,
Martorano nos mostra inmeros ensinamentos dos conselhos operrios na
administrao dos problemas vitais da sociedade. J Mszros (2002), num
plano mais amplo, reflete sobre a necessidade de criao de mediaes de se-
gunda ordem na construo de uma sociedade para alm do capital.
243
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
participativo experimentadas, que de fato foram importantes
tentativas de se buscar uma outra esfera pblica. Mais que um
espao consultivo e legitimador de algumas polticas pblicas,
necessrio constituir um verdadeiro espao pblico deliberativo,
no qual seriam discutidas, de forma ampla, aberta, transparen-
te e democrtica, a formulao e os resultados de determinadas
polticas pblicas, como tambm estaria em pauta o processo de
escolha dos dirigentes pblicos, sua avaliao, e a possibilidade
de revogao dessas indicaes, um tipo de Conselho Gestor de
Controle Democrtico. Cabe ponderar, no entanto, se nossas
elites aceitaro ou iro tolerar esses instrumentos na medida em
que o grosso do oramento estiver nas suas mos, e o povo estiver
brigando coletivamente pelas migalhas.
Para que tais conselhos no se tornem apenas mais uma ins-
tncia pautada pelos chefes do executivo, reproduzindo a mesma
lgica patrimonial de escolha dos dirigentes pblicos e, com isso,
sem legitimidade, seu desenho institucional precisa estar pautado
por uma lgica tico-poltica de emancipao humana e alicer-
ado por procedimentos democrtico-participativos concretos e
no meramente formais ou ritualsticos.
Com isso, tal desenho precisaria se estruturar, necessaria-
mente, a partir dos princpios autogestionrios, tais como a prer-
rogativa proeminente de seleo, nomeao, rodzio, avaliao e,
quando necessrio, revogao dos cargos dos dirigentes pblicos,
alm da prpria composio desses conselhos, que no podem,
em hiptese alguma, se tornar espaos fechados e corporativos.
Uma estratgia importante para isso seria, alm de ter na sua
composio servidores pblicos buscando a superao da divi-
so hierrquica do trabalho , tambm valorizar a criao de as-
sociaes de bairro ou comunitrias, como uma porta de entrada
para se qualificar como conselheiro, alm de outros espaos para
as pessoas em geral e/ou outros profissionais independentes, sen-
do possvel combinar uma srie de mecanismos, como delegao,
244
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
representao direta, concurso, voto e sorteio, para a definio
dos conselheiros. Seria importante ainda criar mecanismos para
garantir o seu pleno funcionamento, como local apropriado e
uma estrutura administrativa mnima, contando sempre com um
corpo de servidores concursados com o objetivo de assessoria,
apoio e organizao das aes do conselho, de forma indepen-
dente e no subordinada.
bem provvel que isso demandar um nico espao fsico
que possa abrigar diferentes conselhos, buscando uma esttica
ou arquitetura que fortalea a viso de um novo tipo de espao
pblico democrtico, para alm da gesto patrimonialista e bu-
rocrtica da riqueza social.
referncias bibliogrficas
ANTUNES, R. (org.). Riqueza e misria do trabalho no Brasil. So
Paulo: Boitempo, 2006.
BEHRING, E. & BOSCHETTI, I. Poltica social: fundamentos e his-
tria. So Paulo, Cortez, 2006.
BRASIL, Presidncia da Repblica. Plano Diretor da Reforma do Es-
tado. Braslia, 1995. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.
br/publi_04/COLECAO/PLANDI.HTM> Acesso em: 15 de jul.
2010.
BRASIL, Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (2010).
Boletim Estatstico de Pessoal. volume 15. Nr. 167.
BRITO, G. Mudanas na Receita configuram a capitulao do Estado
frente a sonegadores. In: Correio da Cidadania. Disponvel em:
<http://www.correiocidadania.com.br/content/view/3584/9/> Aces-
so em 7 de fev., 2010.
CANDIDO, A. Um funcionrio da Monarquia ensaio sobre o segun-
do escalo. So Paulo: Ouro sobre Azul, 2001.
BUCI-GLUCKSMANN, C. Gramsci e o Estado: por uma teoria mate-
rialista da filosofia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
CMARA, L. M. O cargo pblico de livro provimento na organizao
da Administrao Pblica. Revista de Administrao Pblica, Rio
de Janeiro, 43(3):635-59, maio/junho, 2009.
245
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
DEMO, P. Pobreza Poltica: a pobreza mais intensa da pobreza brasi-
leira. Campinas: Autores Associados, 2006.
DRIA, P. Honorveis Bandidos: um retrato do Brasil na era Sarney.
Gerao Editorial, 2009.
IANNI, O. Estado e Capitalismo. So Paulo: Brasiliense, 2004.
KONDER, L. A derrota da dialtica a recepo das ideias de Marx
no Brasil, at o comeo dos anos 30. So Paulo: Expresso Po-
pular, 2006.
MARTORANO, L. C. Conselhos e democracia em busca da participa-
o e da socializao. So Paulo: Expresso Popular, 2011.
MARX, K. Contribuio Crtica da Economia Poltica. So Paulo:
Martins Fontes, 2003.
. A Guerra civil na Frana. In: MARX, K. A revoluo an-
tes da revoluo. So Paulo: Expresso Popular, vol. II, 2008.
MILIBAND, R. O Estado na sociedade capitalista. Rio de Janeiro :
Zahar, 1972.
MSZROS, I. Produo destrutiva e Estado capitalista. So Paulo:
Ensaio, 1996.
. Para alm do capital. So Paulo: Boitempo Editorial , 2002.
MOTTA, F. C. P. Burocracia e Autogesto: a Proposta de Proudhon.
So Paulo: Brasiliense, 1981.
. O que burocracia. So Paulo: Brasiliense, 1981a.
. Organizao e Poder. So Paulo: Atlas, 1986.
& BRESSER PEREIRA, L. C. Introduo Organizao
Burocrtica. So Paulo: Brasiliense, 1980.
; PERREIRA, L. C. P; TRANGBERG, M; VENOSA, R;
STORCH, S. Participao e participaes: Ensaios sobre auto-
gesto. So Paulo: Babel Cultural, 1987.
NOGUEIRA, M. A. Um Estado para a Sociedade Civil. So Paulo:
Cortez, 2005.
PAULA, A. P. P. Por uma nova gesto pblica. Rio de Janeiro: Editora
da Fundao Getulio Vargas, 2005.
PINASSI, M. O. Da misria ideolgica crise do capital uma recon-
ciliao histrica. So Paulo: Boitempo, 2009.
PRADO Jr., C. P. A revoluo brasileira. So Paulo: Brasiliense, 1977.
ROUSSEAU, J. J. O contrato Social ou Princpios do Direito Pblico.
So Paulo: Editora Escala, s/d.
SICS, J. (org.). Arrecadao: de onde vem? E gastos pblicos: para
onde vo? So Paulo: Boitempo Editorial, 2007.
TRAGTENBERG, M. Burocracia e Ideologia. So Paulo: tica, 1974.
246
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
anexo i
trs Gnios de secretaria
de Lima Barreto
O meu amigo Augusto Machado, de quem acabo de publi-
car uma pequena brochura aliteratada Vida e Morte de M. J.
Gonzaga de S mandou-me algumas notas herdadas por ele
desse seu amigo, que, como se sabe, foi oficial da Secretaria dos
Cultos. Coordenadas por mim, sem nada pr de meu, eu as dou
aqui, para a meditao dos leitores:
Estas minhas memrias que h dias tento comear, so
deveras difceis de executar, pois se imaginarem que a minha se-
cretaria de pequeno pessoal e pouco nela se passa de notvel,
bem avaliaro em que apuros me encontro para dar volume s
minhas recordaes de velho funcionrio. Entretanto, sem recor-
rer a dificuldade, mas ladeando-a, irei sem preocupar-me com
datas nem tampouco me incomodando com a ordem das cousas
e fatos, narrando o que me acudir de importante, proporo de
escrev-las. Ponho-me obra.
Logo no primeiro dia em que funcionei na secretaria, senti
bem que todos ns nascemos para empregado pblico. Foi a re-
flexo que fiz, ao me julgar to em mim, quando, aps a posse e
o compromisso ou juramento, sentei-me perfeitamente vontade
na mesa que me determinaram. Nada houve que fosse surpresa,
nem tive o mnimo acanhamento. Eu tinha vinte e um para vinte
e dois anos; e nela me abanquei como se de h muito j o fizesse.
To depressa foi a minha adaptao que me julguei nascido para
ofcio de auxiliar o Estado, com a minha reduzida gramtica e
o meu pssimo cursivo, na sua misso de regular a marcha e a
atividade da nao.
Com familiaridade e convico, manuseava os livros
grandes montes de papel espesso e capas de couro, que estavam
247
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
destinados a durar tanto quanto as pirmides do Egito. Eu sentia
muito menos aquele registro de decretos e portarias e eles pare-
ciam olhar-me respeitosamente e pedir-me sempre a carcia das
minhas mos e a doce violncia da minha escrita.
Puseram-me tambm a copiar ofcios e a minha letra to
m e o meu desleixo to meu, muito papel fizeram-me gastar,
sem que isso redundasse em grande perturbao no desenrolar
das cousas governamentais.
Mas, como dizia, todos ns nascemos para funcionrio p-
blico. Aquela placidez do ofcio, sem atritos, nem desconjunta-
mentos violentos; aquele deslizar macio durante cinco horas por
dia; aquela mediania de posio e fortuna, garantindo inabala-
velmente uma vida medocre tudo isso vai muito bem com as
nossas vistas e os nossos temperamentos. Os dias no emprego
do Estado nada tm de imprevisto, no pedem qualquer espcie
de esforo a mais, para viver o dia seguinte. Tudo corre calma
e suavemente, sem colises, nem sobressaltos, escrevendo-se os
mesmos papis e avisos, os mesmos decretos e portarias, da mes-
ma maneira, durante todo o ano, exceto os dias feriados, santifi-
cados e os de ponto facultativo, inveno das melhores da nossa
Repblica.
De resto, tudo nele sossego e quietude. O corpo fica em
cmodo jeito; o esprito aquieta-se, no tem efervescncia nem
angstias; as praxes esto fixas e as frmulas j sabidas. Pensei
at em casar, no s para ter uns bate-bocas com a mulher mas,
tambm, para ficar mais burro, ter preocupaes de pistoles,
para ser promovido. No o fiz; e agora, j que no digo a ente hu-
mano, mas ao discreto papel, posso confessar porque. Casar-me
no meu nvel social, seria abusar-me com a mulher, pela sua falta
de instruo e cultura intelectual; casar-me acima, seria fazer-me
lacaio dos figures, para darem-me cargos, propinas, gratifica-
es, que satisfizessem s exigncias da esposa. No queria uma
nem outra cousa. Houve uma ocasio em que tentei solver a di-
248
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
ficuldade, casando-me. ou cousa que o valha, abaixo da minha
situao. a tal histria da criada... A foram a minha dignidade
pessoal e o meu cavalheirismo que me impediram.
No podia, nem devia ocultar a ningum e de nenhuma
forma, a mulher com quem eu dormia e era me dos meus filhos.
Eu ia citar Santo Agostinho, mas deixo de faz-lo para continuar
a minha narrao...
Quando, de manh, novo ou velho no emprego, a gente se
senta na sua mesa oficial, no h novidade de espcie alguma e,
j da pena, escreve devagarinho: Tenho a honra, etc., etc.; ou,
republicanamente, Declaro-vos. para os fins convenientes, etc.
etc. Se h mudana, pequena e o comeo j bem sabido: Te-
nho em vistas... ou Na forma do disposto...
s vezes o papel oficial fica semelhante a um estranho mo-
saico de frmulas e chapas; e so os mais difceis, nos quais o
doutor Xisto Rodrigues brilhava como mestre inigualvel.
O doutor Xisto j conhecido dos senhores, mas no
dos outros gnios da Secretaria dos Cultos. Xisto estilo anti-
go. Entrou honestamente, fazendo um concurso decente e sem
padrinhos. Apesar da sua pulhice bacharelesca e a sua limitao
intelectual, merece respeito pela honestidade que pe em todos
os atos de sua vida, mesmo como funcionrio. Sai hora regu-
lamentar e entra hora regulamentar. no bajula. nem recebe
gratificaes.
Os dous outros, porm, so mais modernizados. Um cha-
radista, o homem que o diretor. consulta, que d as informaes
confidenciais, para o presidente e o ministro promoverem os ama-
nuenses. Este ningum sabe como entrou para a secretaria; mas
logo ganhou a confiana de todos, de todos se fez amigo e, em
pouco, subiu trs passos na hierarquia e arranjou quatro gratifi-
caes mensais ou extraordinrias. No m pessoa, ningum se
pode aborrecer com ele: uma criao do ofcio que s amofina
os outros, assim mesmo sem nada estes saberem ao certo, quando
249
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
se trata de promoes. H casos muito interessantes; mas deixo as
proezas dessa inferncia burocrtica, em que o seu amor primitivo
a charadas, ao logogrifo e aos enigmas pitorescos ps-lhe sempre
na alma uma caligem de mistrio e uma necessidade de impor aos
outros adivinhao sobre ele mesmo. Deixo-a, dizia, para tratar
do auxiliar de gabinete. este a figura mais curiosa do funcio-
nalismo moderno. sempre doutor em qualquer cousa; pode ser
mesmo engenheiro hidrulico ou eletricista. Veio de qualquer parte
do Brasil, da Bahia ou de Santa Catarina, estudou no Rio qualquer
cousa; mas no veio estudar, veio arranjar um emprego seguro que
o levasse maciamente para o fundo da terra. donde deveria ter sa-
do em planta, em animal e, se fosse possvel, em mineral qualquer.
intil, vadio, mau e pedante, ou antes, pernstico.
Instalado no Rio, com fumaas de estudante, sonhou logo
arranjar um casamento, no para conseguir uma mulher, mas,
para arranjar um sogro influente, que o empregasse em qualquer
cousa, solidamente. Quem como ele faz de sua vida, to-somente
caminho para o cemitrio, no quer muito: um lugar em uma se-
cretaria qualquer serve. H os que veem mais alto e se servem do
mesmo meio; mas so a quintessncia da espcie.
Na Secretaria dos Cultos, o seu tpico e clebre auxiliar de
gabinete, arranjou o sogro dos seus sonhos, num antigo profes-
sor do seminrio, pessoa muito relacionada com padres, frades,
sacristos, irms de caridade, doutores em cnones, definidores,
fabriqueiros, fornecedores e mais pessoal eclesistico.
O sogro ideal, o antigo professor, ensinava no seminrio
uma fsica muito prpria aos fins do estabelecimento, mas que
havia de horripilar o mais medocre aluno de qualquer estabele-
cimento leigo.
Tinha ele uma filha a casar e o auxiliar de gabinete, logo
viu no seu casamento com ela, o mais fcil caminho para arran-
jar uma barrigazinha estufadinha e uma bengala com casto de
ouro.
250
Os grilhes da gesto pblica: o processo decisrio e as
formas contemporneas de dominao patrimonialista
Houve exame na Secretaria dos Cultos, e o sogro, sem
escrpulo algum, fez-se nomear examinador do concurso para o
provimento do lugar e meter nele o noivo.
Que se havia de fazer? O rapaz precisava.
O rapaz foi posto em primeiro lugar, nomeado e o velho
sogro (j o era de fato) arranjou-lhe o lugar de auxiliar de ga-
binete do ministro. Nunca mais saiu dele e, certa vez, quando
foi, pro formula se despedir do novo ministro, chegou a levantar
o reposteiro para sair; mas, nisto, o ministro bateu na testa e
gritou:
Quem a o doutor Mata-Borro?
O homenzinho voltou-se e respondeu, com algum tremor
na voz e esperana nos olhos:
Sou eu, excelncia.
O senhor fica. O seu sogro j me disse que o senhor
precisa muito.
ele assim, no gabinete, entre os poderosos; mas, quando
fala a seus iguais, de uma prospia de Napoleo, de quem se
no conhecesse a Josefina.
A todos em que ele v um concorrente, traioeiramente de-
sacredita: bbedo, joga, abandona a mulher, no sabe escrever
comisso, etc. Adquiriu ttulos literrios, publicando a Relao
dos Padroeiros das Principais Cidades do Brasil; e sua mulher
quando fala nele, no se esquece de dizer: Como Rui Barbosa,
o Chico... ou Como Machado de Assis, meu marido s bebe
gua.
Gnio domstico e burocrtico, Mata-Borro, no chegar,
apesar da sua maledicncia interesseira, a entrar nem no inferno.
A vida no unicamente um caminho para o cemitrio; mais
alguma cousa e quem a enche assim, nem Belzebu o aceita. Seria
desmoralizar o seu imprio; mas a burocracia quer desses amor-
fos, pois ela das criaes sociais aquela que mais atrozmente
tende a anular a alma, a inteligncia, e os influxos naturais e fsi-
251
di A. Benini | Elcio G. Benini | Henrique T. Novaes
cos ao indivduo. um expressivo documento de seleo inversa
que caracteriza toda a nossa sociedade burguesa, permitindo no
seu campo especial, com a anulao dos melhores da inteligncia,
de saber, de carter e criao, o triunfo inexplicvel de um Mata-
Borro por a.
Pela cpia, conforme.
Brs Cubas, Rio, 10-4-1919.
253
notas sobre a formao histrica do brasil e
seus desafios contemporneos a contribuio
de caio prado Jnior e florestan fernandes
Fabiana Rodrigues
Paulo Alves de Lima Filho
Este texto tem por objetivo resgatar a anlise de Caio Prado
Jnior e Florestan Fernandes acerca de nossa formao histrica,
ressaltando o esforo desses intelectuais para a compreenso da
particularidade de nosso capitalismo. A escolha desses dois au-
tores se justifica pelo avano promovido por ambos na compre-
enso de nossos desafios econmicos, polticos e sociais. Como
afirma Antunes (2009, p. 11):
O pensamento crtico no Brasil, que se desenvolveu especialmen-
te na segunda metade do sculo XX, viu florescer as figuras ex-
ponenciais de Caio Prado Jr. e Florestan Fernandes. O primeiro,
ao descortinar o sentido da colonizao, ao apreender nossa for-
mao colonial como expresso de uma dada forma de explora-
o atada ao processo de acumulao primitiva que se gestava
nas metrpoles, mergulhou na particularidade da nossa forma-
o histrico-social. Sua contribuio foi seminal e configurou-se
como uma viragem na compreenso do caso brasileiro.
Coube a Florestan Fernandes realizar empreendimento smile,
em importncia e densidade, ao desvendar os dilemas da revolu-
o burguesa no Brasil, ao discorrer sobre os tortuosos caminhos
e engrenagens da dominao burguesa aqui gestada.
254
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
Sendo assim, iniciamos, introdutoriamente, por descrever as
dificuldades com as quais as obras de Marx e Engels chegam ao
pas e, nesse contexto, o pioneirismo de Caio Prado em encetar
uma anlise histrica do Brasil a partir do materialismo histrico-
dialtico. Na primeira parte do texto, explicamos o que este his-
toriador entende pelo sentido da colonizao e como esta ideia
pode expressar nossas particularidades e os obstculos a serem su-
perados na transio de um pas com fortes traos de seu passado
colonial para a construo da Nao. Verificaremos como aparece
nesta anlise os desafios relativos industrializao do pas.
Na segunda parte do texto, trataremos da anlise de Flo-
restan Fernandes sobre o capitalismo dependente, que tem como
fundamento a dupla articulao entre a subordinao ao impe-
rialismo e a manuteno do subdesenvolvimento em nossa for-
mao histrica, ensejando um carter particular nossa indus-
trializao. Fechamos o texto com algumas consideraes finais
sobre como esses autores podem contribuir para iluminar refle-
xes sobre os desafios econmicos e sociais contemporneos en-
frentados pelo Brasil.
introduo
As obras de Marx e Engels chegam ao Brasil com vrias di-
ficuldades, como foi o caso do Manifesto do Partido Comunista,
s traduzido ao portugus em 1923.
1
At mesmo os fundadores
do PCB (Partido Comunista do Brasil) pouco conheciam da obra
marxiana e havia muita lentido quanto aquisio e difuso
destes conhecimentos tericos. Um dos importantes integrantes
1
Konder (2009, p. 178) fala sobre esta traduo de Octvio Brando: A tra-
duo de Brando um marco na divulgao das ideias de Marx no Brasil.
O Manifesto chegou ao nosso pas com 80 anos de atraso. Mesmo assim, foi
considerado subversivo, exemplares foram apreendidos e a polcia anun-
ciou que iria inciner-los.
255
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
do PCB na dcada de 1930, Heitor Ferreira Lima (apud Konder,
2009) escreve, em suas memrias, que bem pouca coisa conhecia
diretamente de Marx e Engels, assim como ignorava textos fun-
damentais de Lenin como Que fazer? e O desenvolvimento do
capitalismo na Rssia.
Nos anos de 1930, houve uma difuso, relativamente gran-
de para a poca, dos textos de Stalin, os quais tiveram uma in-
fluncia decisiva no movimento operrio revolucionrio no Bra-
sil. Diversos textos foram publicados pela editora Soviet do Rio
de Janeiro, pela Alba e pela editora Calvino. Havia tambm a
divulgao de diversas publicaes que faziam propaganda do
Estado Sovitico, levando a uma crescente ignorncia da obra
marxiana:
De maneira geral, convinha ao stalinismo desviar as discusses
da teoria de Marx para as realizaes prticas de Lenin e Stalin.
Marx foi ficando, assim, subsumido a Lenin; e este, discreta-
mente, ficou subsumido a Stalin. Generalizou-se a convico de
que no devia ser muito importante o estudo do pensamento de
Marx, de seus escritos, j que o essencial do marxismo estaria
devidamente traduzido no Estado fundado por Lenin e agora
dirigido por Stalin, bem como na poltica desenvolvida pelo mo-
vimento comunista mundial (Konder, 2009, p. 219).
Neste contexto, o historiador Caio Prado Jnior foi pio-
neiro em contrariar as diretrizes estalinistas de interpretao da
realidade, apontando as debilidades que permeavam o PCB e o
seu despreparo terico. Ao longo de suas obras, desde A evolu-
o poltica do Brasil, com primeira edio em 1933, j se en-
videnciava o anseio de compreender as especificidades de nossa
formao social a partir da tica das classes exploradas. Em suas
palavras: Quis mostrar, num livro ao alcance de todo mundo,
que tambm na nossa histria os heris e os grandes feitos no
so heris e grandes seno na medida em que acordam com os
interesses das classes dirigentes, em cujo benefcio se faz a his-
256
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
tria oficial. (Prado Jr., 1969, p. 10). Em 1942, foi publicada
a Formao do Brasil Contemporneo, em que o historiador j
aparece mais depurado como marxista e historiador, pretenden-
do forjar, segundo Fernandes (1995), uma obra mestra para
dar fundamentos ao PCB no trajeto e nos objetivos especficos da
revoluo brasileira. Essa trajetria culminou com a divulgao,
em 1966, de A revoluo brasileira, na qual ele repudia o meca-
nicismo de Stalin e a influncia da Terceira Internacional. Nas
palavras de Fernandes (1995, p. 85):
Nessa obra, Caio Prado Jnior procede a uma crtica severa dos
desvios de rota da revoluo socialista, programados e impos-
tos como deformao do marxismo; o uso invertido e ditatorial
do centralismo democrtico; a simplificao grosseira da teoria e
das prticas marxistas da luta de classes e da revoluo em escala
mundial. Os pases dependentes, coloniais e neocoloniais tinham
sido metidos em um mesmo saco e em mesma camisa-de-fora,
que, pressupunham que a revoluo pudesse ser unvoca, mono-
ltica, dirigida segundo uma frmula nica, a partir das diretri-
zes da Terceira Internacional e da Unio Sovitica.
Sob estas influncias, a teoria marxista da revoluo no Bra-
sil teria sido formulada com base em abstraes, ou seja, a partir
(...) de conceitos formulados a priori e sem considerao adequa-
da dos fatos; procurando-se posteriormente, e somente assim (...)
encaixar nesses conceitos a realidade concreta (Prado Jr., 1968,
p. 31). Segundo o historiador, essa seria uma teorizao s avessas,
j que ia dos conceitos aos fatos e no o contrrio. Pautando-se
no stalinismo, o principal equvoco dessas anlises estaria no fato
de elas basearem-se em realidades diferentes da brasileira, a qual
teria, por essa tica equivocada, que passar pelos mesmos estgios
de desenvolvimento histrico percorridos pelos pases de capitalis-
mo avanado. Para Caio Prado (1968, p. 37), essa teoria comple-
tamente estranha ao pensamento forjado por Marx e Engels:
257
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
(...)A ideia de que a evoluo histrica da humanidade se realiza
atravs de etapas invariveis e predeterminadas, inteiramente
estranha a Marx, Engels e demais clssicos do marxismo cujas
atenes, no que nos interessa aqui, se voltaram sempre exclusiva
e particularizadamente para o caso dos pases e povos europeus.
deles que se ocuparam, e no generalizaram nunca as suas con-
cluses acerca das fases histricas percorridas por aqueles pases
e povos. (...) Tratava-se de fatos especficos da evoluo histrica
dos pases europeus. E assim foram considerados.
Cabia queles preocupados com as transformaes relati-
vas revoluo brasileira se manterem fiis a uma anlise da
realidade de nosso pas que partisse dos fatos, de nossa histria,
dos traos especficos do capitalismo que aqui se constitui. Em
Formao do Brasil Contemporneo, a qual consta entre as trs
mais importantes interpretaes do Brasil, Caio Prado empre-
ende a busca das caractersticas especficas de nossa formao
histrica.
2
A perspectiva da longa durao a escolhida por Caio
Prado para a anlise da histria brasileira, j que seu objetivo
baseou-se em entender o sentido da evoluo deste povo, o que
s seria possvel por meio da anlise (...) dos fatos e aconteci-
mentos essenciais que a constituem num largo perodo de tem-
po. (Prado Jr., 2000, p. 7). A particularidade de nossa formao
social, econmica e poltica foi buscada justamente nos traos
essenciais que determinam nossa evoluo, que, muito distante
de estar dada previamente possui um conjunto de aspectos que a
tornam nica e conformam o que o autor chamou de o sentido
da colonizao. Este sentido deve ser compreendido numa an-
lise que leve em considerao a totalidade, a qual, cabe ressaltar,
2
Caio Prado constituiu uma gerao de pensadores preocupados em entender
o Brasil, em interpret-lo, sua obra Formao do Brasil Contemporneo,
de 1942 tida ao lado de Razes do Brasil de Srgio Buarque de Holanda e
junto Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire como um trabalho clssi-
co para anlise de nossa formao social, econmica e poltica.
258
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
corresponde a uma das categorias fundantes de sua obra, j que
o (...) todo (...) deve ser sempre o objetivo ltimo do historiador,
por mais particularista que seja. (Prado Jr., 2000, p. 7)
caio prado Jr
Caio Prado sintetizou no sentido da colonizao o que ha-
via de fundamental e permanente desde o momento em que os
portugueses chegaram no territrio que veio a se chamar Brasil.
Para tanto, ele colocou nossa histria num quadro amplo relati-
vo trajetria dos pases europeus a partir do sculo XV. Nesse
perodo, a Europa ganhou o oceano, dedicando-se atividade
colonizadora. Tratava-se, ento, de investigar quais foram as
motivaes e as circunstncias que determinaram as grandes
navegaes e ficaram marcadas em nossa formao. Em suas
palavras:
Estamos to acostumados em nos ocupar com o fato da coloniza-
o brasileira, que a iniciativa dela, os motivos que a inspiraram e
determinaram, os rumos que tomou em virtude daqueles impulsos
iniciais se perderam de vista. Ela aparece como um acontecimento
fatal e necessrio, derivado natural e espontaneamente do simples
fato do descobrimento. E os rumos que tomou tambm se afiguram
como resultados exclusivos daquele fato. Esquecemos a os antece-
dentes que se acumulam atrs de tais ocorrncias, e o grande nme-
ro de circunstncias particulares que ditaram as normas a seguir. A
considerao de tudo isto, no caso vertente, tanto mais necessria
que os efeitos de todas aquelas circunstncias iniciais e remotas, do
carter que Portugal, impelido por elas, dar sua obra coloniza-
dora, se gravaro profunda e indelevelmente na formao e evolu-
o do pas (Prado Jr., 2000, p. 9).
A colonizao portuguesa na Amrica foi um captulo da
histria do comrcio europeu. O interesse inicial no era povoar,
mas promover o comrcio. A ideia de ocupar s apareceu num
259
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
segundo momento, como contingncia, uma vez que era necess-
rio proteger a conquista portuguesa dos concorrentes europeus.
O primeiro produto ao qual se vinculou o povoamento foi a ca-
na-de-acar. Foram estabelecidas grandes unidades produtoras,
pautadas na monocultura de exportao e no trabalho escravo
negro africano. Constituiu-se a colonizao nos trpicos como
uma vasta empresa comercial: (...) mais complexa que a antiga
feitoria, mas sempre com o mesmo carter que ela, destinada a
explorar os recursos naturais de um territrio virgem em provei-
to do comrcio europeu. (Prado Jr., 2000, p. 20). Dessa forma,
vai se delineando o sentido da colonizao, em uma economia
e sociedade organizadas inteiramente para atender necessidades
que lhes eram estranhas, assim, o historiador explica:
Se vamos essncia da nossa formao, veremos que na realida-
de nos constitumos para fornecer acar, tabaco, alguns outros
gneros; mais tarde ouro e diamantes; depois, algodo, e em se-
guida caf, para o comrcio europeu. Nada mais que isto. E com
tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do pas e sem
ateno a consideraes que no fossem o interesse daquele co-
mrcio, que se organizaro a sociedade e a economia brasileiras.
Tudo se dispor naquele sentido: a estrutura, bem como as ativi-
dades do pas. Vir o branco europeu para especular, realizar um
negcio; inverter seus cabedais e recrutar a mo de obra que
precisa: indgenas ou negros importados. Com tais elementos, ar-
ticulados numa organizao puramente produtora, industrial, se
constituir a colnia brasileira. Este incio, cujo carter se man-
ter dominante atravs dos trs sculos que vo at o momento
em que ora abordamos a histria brasileira se gravar profunda
e totalmente nas feies e na vida do pas. (...) O sentido da
evoluo brasileira, que o que estamos aqui indagando, ainda
se afirma por aquele carter inicial da colonizao (...) (Prado Jr.,
2000, p. 20).
Caio Prado entendia que o sentido da colonizao se gra-
vara to fortemente em nossa formao que se impunha como
260
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
obstculo a ser ultrapassado, em meados do sculo XX, para a
formao da Nao. Entendemos que a Nao para Caio Prado
se apresentava como uma possibilidade histrica a partir da an-
lise das tendncias ensejadas por nossa formao.
3
O historiador estava preocupado em compreender os desa-
fios que se colocavam para efetivarmos a formao da Nao,
estruturada economicamente para atender as necessidades da po-
pulao brasileira em seu conjunto. Desse modo, a realidade bra-
sileira era vista em uma situao transitria entre:
(...) de um lado, o passado colonial e o momento em que o Bra-
sil ingressa na histria como rea geogrfica ocupada e colo-
nizada com o objetivo precpuo de extrair dessa rea produtos
destinados ao abastecimento do comrcio e mercado europeus;
e doutro lado o futuro, j hoje bem prximo, em que essa mes-
ma rea e seu povoamento, afinal nacionalmente estruturados,
comportaro uma organizao e sistema econmico voltados es-
sencial e fundamentalmente para a satisfao das necessidades
dessa mesma populao que a ocupa, e capazes de assegurar a
essa populao um nvel e plano de existncia consetneos com
os padres da civilizao e cultura de que participamos (Prado
Jr., 1968, p. 116).
Entre os principais desafios que se colocavam para a for-
mao da Nao estava o estado de incerteza e instabilidade no
qual estava imersa a economia brasileira, em processo de indus-
3
Esse futuro, note-se, no h de constituir-se idealizao, projeo a priori
de simples desejos e aspiraes do pesquisador. E sim representa a direo
para que tendem os fatos tal como realmente se processam; exprime a din-
mica e o sentido profundos da Histria, que nos mostra o Brasil emergindo
progressivamente daquele aglomerado heterogneo e originrio de raas e
povos dspares o branco europeu, o negro africano, o indgena reunidos
pela colonizao deste territrio que iria constituir o Brasil, a fim de nele pro-
duzirem alguns gneros tropicais que o mercado europeu demandava, para
se transformar numa coletividade e sociedade nacionalmente organizada
(Prado Jr., 1968, p. 116).
261
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
trializao, colocando-a constantemente na iminncia de uma
reverso estrutural. Segundo Plnio de Arruda Sampaio Jnior
(1999), na constatao desse trao de nossa formao histrica
residiria a originalidade da interpretao do historiador. Para
tratar da instabilidade econmica e social do desenvolvimen-
to capitalista que ocorria no pas, Caio Prado privilegiou tanto
os fatores responsveis pela precariedade do processo de mer-
cantilizao, intimamente vinculado s relaes de trabalho no
campo e na cidade; quanto a maneira como se davam as nossas
relaes com o imperialismo, estreitamente relacionada com o
carter originrio da economia brasileira, voltada a atender ne-
cessidades estranhas ao pas.
Na base das insuficincias de nosso mercado interno se des-
tacaria a nossa questo agrria, ou seja, (...) o tipo de relaes
de produo e trabalho vigentes na agropecuria brasileira, bem
como as condies materiais e morais da populao trabalha-
dora da derivadas. (Prado Jr., 1968, p. 123), que asseguram o
rebaixamento das condies em que os trabalhadores nas cidades
vendem a sua fora de trabalho, restringindo o processo de am-
pliao e diversificao do mercado consumidor.
4
Alm da con-
4
Sobre a superpopulao marginalizada no mercado de trabalho Caio Prado
(1979b, p. 17-18) afirma: Ora, a presena de to considervel massa de
trabalhadores sem outro recurso que alienar sua fora de trabalho, faz pen-
der a balana da oferta e procura de mo de obra decisivamente em favor
da procura, que se encontra assim em situao de impor suas condies,
quase sem limitaes, nas relaes de trabalho. Essa a razo principal dos
nfimos padres do trabalhador rural brasileiro, inclusive nas regies mais
desenvolvidas do Pas. Padres esses que beiram muitas vezes formas carac-
teristicamente servis, e que indiretamente e por repercusso vo influir nos
prprios padres urbanos. No pode haver dvidas que os baixos salrios
relativos e as precrias condies de trabalho observadas na generalidade
da indstria e outras atividades urbanas, sem excetuar os maior centros do
Pas, se devem em boa parte ao potencial de mo de obra de baixo custo que
o campo oferece e que concorre permanentemente no mercado de trabalho
urbano, deprimindo-lhe o preo.
262
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
centrao fundiria, o nosso passado escravista estaria na base
das brutais formas de explorao do trabalho na agropecuria
brasileira, contribuindo para a compresso da remunerao do
trabalhador (Prado Jr, 1966).
5
Quanto s nossas relaes com o imperialismo, Caio Prado
(1968, p. 135) ressalta que esses vnculos foram construdos a
partir de uma economia historicamente voltada a atender inte-
resses econmicos externos:
O imperialismo deparou-se no Brasil com uma economia que
pela sua prpria origem e natureza de sua formao, j se achava
ajustada no sistema mercantil europeu de que resultaria, em seu
ltimo desdobramento, o sistema internacional imperialista de
nossos dias.
Sendo assim, no sentido da colonizao estaria o bero de
nossas relaes com o imperialismo, sob o qual a industrializa-
o brasileira adquiriu maior vigor. A industrializao ganhou
mpeto em momentos como a crise de 1929, quando houve um
estrangulamento cambial que quebrou a capacidade de impor-
tar. Outra circunstncia propcia se deu no ps-Segunda Guer-
ra Mundial, quando abundaram recursos externos provenientes
dos vitoriosos EUA. Ocasio em que se convencionou o Acordo
de Bretton Woods , no qual se delinearam diretrizes favorveis
emergncia do dlar como principal moeda mundial, garan-
tindo uma liquidez sem precedentes e a busca de aplicao e
inverso dos capitais assim formados. Desse modo, se constitui
uma industrializao que marchava para substituir importaes
ao mesmo tempo em que era regida pelos interesses das multi-
nacionais em busca de novos mercados, como explica Prado Jr.
(1968, p. 126):
5
Para uma sntese sobre a viso de Caio Prado sobre a questo agrria no
Brasil, consultar: Rodrigues (2005).
263
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
Sem entrar em pormenores de nossa recente histria econmi-
ca, lembremos unicamente (...) que so aquelas circunstncias
apontadas (desequilbrio de contas externas, instabilidade cam-
bial e depreciao constante e acelerada da moeda brasileira) e
as contradies geradas nesse processo, que foraro e estimu-
laro a diversificao das atividades produtivas do pas, e em
particular a industrializao. Tratava-se de produzir aqui mes-
mo o que se ia tornando cada vez mais difcil, e frequentemente
impossvel adquirir no exterior, uma vez que para isso escas-
seavam os recursos financeiros necessrios. Mas nem por isso
as empresas imperialistas, antigas fornecedoras dos produtos
que o Brasil importava, perdero sua clientela brasileira, pois
cuidaro de se instalarem no Brasil, produzindo e fornecendo
aqui mesmo o que anteriormente nos remetiam do exterior. Par-
ticularmente, a industrializao ser nestes ltimos tempos, em
proporo considervel que se pode avaliar grosseiramente em
pelo menos 40%, fruto da implantao no pas de subsidirias
e associadas de grandes trustes internacionais interessados no
nosso mercado.
Por essa interpretao, a industrializao no Brasil no se
fundamentava em mecanismos autopropulsores, mas sim por
fora de contingncias estruturais:
(...) A industrializao brasileira marchar canhestramente e por
impulsos descontnuos e desordenados, ao sabor de vicissitudes
que lhe so estranhas, como em particular a caprichosa conjun-
tura das finanas externas (Prado Jr., 1972, p. 80).
O calcanhar de Aquiles dessa indstria era a dependn-
cia com relao aos saldos comerciais, j que a exportao
de produtos primrios era condio fundamental para efe-
tivar o desenvolvimento das foras produtivas no pas. Des-
sa maneira, geravam-se os recursos necessrios para as im-
portaes de mquinas e outros itens para as multinacionais
que se instalavam. Os valores advindos das exportaes tam-
bm asseguravam a conversibilidade da riqueza aqui gera-
264
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
da e que deveria ser remetida aos pases de origens dessas
organizaes:
6
Observamos aqui muito bem a ligao do imperialismo com o
nosso sistema colonial, fundado na exportao de produtos pri-
mrios, pois dessa exportao que provm os recursos com que
o imperialismo conta para realizar os lucros que so a razo de
ser de sua existncia. Considerada do ponto de vista geral do
imperialismo, a economia brasileira se engrena no sistema dele
como fornecedor de produtos primrios cuja venda nos mercados
internacionais proporciona os lucros dos trustes que dominam
aquele sistema. Todo funcionamento da economia brasileira, isto
, as atividades econmicas do pas e suas perspectivas futuras,
se subordinam assim, em ltima instncia, ao processo comercial
em que os trustes ocupam hoje o centro. Embora numa forma
mais complexa, o sistema colonial brasileiro continua em essn-
cia o mesmo do passado, isto , uma organizao fundada na
produo de matrias-primas e gneros alimentares demandados
nos mercados internacionais. com essa produo e exportao
consequente que fundamentalmente se mantm a vida do pas,
pois com a receita da proveniente que se pagam as importa-
6
Caio Prado mantm essa anlise ao longo dos estudos que realiza, inclusive
em um post scriptum da Histria econmica do Brasil, de 1976, quando ele
analisa o milagre econmico e afirma que mesmo com todos os avanos
econmicos obtidos, mantnhamos a mesma estrutura colonial para sustentar
esse arranque da economia brasileira, certamente fadada ao declnio logo em
seguida: (...) Embora numa forma mais complexa e exteriormente revestido
de aspectos mais conformes com maneiras de ser dos dias de hoje, o que
fato universal, o sistema scio-econmico brasileiro continua, no essencial, o
mesmo daquele passado. Isto , uma sociedade apoiada inteiramente, em l-
tima instncia, e essencialmente organizada com esse objetivo, na produo
primria de gneros demandados em mercados estranhos. com essa produ-
o e exportao consequente que fundamentalmente se mantm a vida do
pas, pois com a receita da proveniente que se pagam importaes essenciais
nossa subsistncia, inclusive e em particular a instalao e manuteno da
rudimentar e precria atividade industrial que a nossa; bem como se pagam
os servios financeiros e outros dos bem remunerados trustes imperialistas as
multinacionais, se preferirem aqui operando (Prado Jr., 1979a, p. 355).
265
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
es, essenciais nossa subsistncia, e os dispendiosos servios
dos bem remunerados trustes imperialistas aqui instalados e com
que se pretende contar para a industrializao e desenvolvimento
econmico do pas (Prado Jr., 1968, p. 128-129).
Desse modo, a interpretao de Caio Prado Jnior sobre
a realidade brasileira voltou-se a compreender os obstculos
que se colocavam no processo de transio no qual se inseria
o Brasil, rumo formao de uma Nao, com toda a popula-
o integrada democraticamente no desenvolvimento econmi-
co autodeterminado. O desafio que se impunha era a ruptura
com o passado colonial, vivo no carter originrio da econo-
mia brasileira, que tinha como fundamento atender o merca-
do externo com bens primrios, e na extrema explorao do
trabalhador no campo e das cidades, base da precariedade do
mercado interno.
florestan fernandes
Florestan Fernandes concentrou esforos na compreenso
dos dilemas da revoluo burguesa no Brasil, entendida como
um (...) conjunto de transformaes econmicas, tecnolgicas,
sociais, psicoculturais e polticas que s se realizam quando o
desenvolvimento capitalista atinge o clmax de sua evoluo in-
dustrial (Fernandes, 2006, p. 239).
Para este socilogo, a Revoluo burguesa no Brasil, pelo seu
desdobramento muito particular, constituiu um processo histrico
especfico, caracterizado por perpetuar os nexos de subordinao
externa e os anacronismos sociais. Por esta interpretao, a trans-
formao capitalista no se determina de maneira exclusiva pelos
requisitos intrnsecos ao desenvolvimento capitalista. Ou seja, no
possvel aplicar ao caso brasileiro um esquema da Revoluo
burguesa que seria idntico s sociedades capitalistas centrais he-
gemnicas e enxergar o subdesenvolvimento e a dependncia como
266
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
etapas fatalmente superveis. A periferia dependente e subdesenvol-
vida no repetiu a histria das naes centrais, embora ela tenha
sido continuamente remodelada por dinamismos que advinham
delas. No houve ruptura com a dominao externa, mantendo-se
a expropriao imperialista e o subdesenvolvimento.
Existem aspectos essenciais comuns a todos os pases capi-
talistas, que logicamente esto presentes na periferia do sistema.
Seriam traos estruturais, sem os quais a periferia no poderia
participar da dinmica de crescimento das economias centrais.
Traos como: a existncia de uma economia de mercado, a extra-
o de mais-valia absoluta e relativa. No entanto, para entender
os dilemas de nossa Revoluo burguesa, necessrio examinar
as dessemelhanas que advm do processo pelo qual o desenvol-
vimento capitalista da periferia se torna dependente e subdesen-
volvido. Nas palavras de Florestan (2006, p. 340):
Em um sistema de notao marxista, a estas diferenas (e no
quelas uniformidades) que cabe recorrer para explicar a varia-
o essencial e diferencial, isto , o que tpico da transformao
capitalista e da dominao burguesa sob o capitalismo dependen-
te. S assim se pode colocar em evidncia como e por que a Revo-
luo Burguesa constitui uma realidade histrica peculiar nas na-
es capitalistas dependentes e subdesenvolvidas, sem recorrer-se
substancializao e mistificao da histria.
Segundo Florestan (2006), trs fases comporiam nossa re-
voluo burguesa: a primeira seria a fase da ecloso de um mer-
cado capitalista especificamente moderno, tambm chamada de
transio neocolonial, que iria da Abertura dos Portos at aos
meados do sculo XIX. A segunda fase corresponderia forma-
o e expanso do capitalismo competitivo, caracterizada pela
consolidao e disseminao desse mercado e da economia ur-
bano-comercial, indo do ltimo quartel do sculo XIX at a d-
cada de 1950. A terceira fase se caracterizaria pela irrupo do
267
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
capitalismo monopolista, levando reorganizao do mercado e
do sistema de produo, por meio das operaes comerciais, fi-
nanceiras e industriais da grande corporao, predominantemen-
te estrangeira. Esta tendncia aparece anteriormente, mas s se
acentua na dcada de 1950, consolidando-se a partir de 1964.
Em todas essas fases, o desenvolvimento capitalista foi marca-
do por uma dupla articulao, pautada na dependncia e no subde-
senvolvimento, expresso na heterogeneidade estrutural da sociedade
brasileira. Segundo Sampaio Jr. (1999, p. 136), Fernandes nos for-
nece arcabouo terico para pensar as razes que conferem relativa
estabilidade ao capitalismo dependente. Ela adviria da manuteno
do atraso e de sua relao de subordinao e sustentao com rela-
o s bases produtivas e sociais capitalistas, externas e internas.
A interpretao de Florestan Fernandes sobre as razes estruturais
do capitalismo dependente parte do princpio de que a formao de
um padro de acumulao com tendncia autonomizao requer
a existncia de um sistema produtivo heterogneo. A combinao
de unidades produtivas em diferentes estgios de desenvolvimento
capitalista deriva de um fato simples: a heterogeneidade estrutural
o nico meio de contrabalanar a extrema instabilidade do ca-
pitalismo dependente e de lhe dar um mnimo de estabilidade. A
premissa subjacente que a articulao de estruturas modernas e
atrasadas um expediente que permite s burguesias dependentes
compensar a debilidade de sua estrutura de capital e o circuito de
indeterminao gerado pela extrema precariedade da conjuntura
mercantil em que vivem (Sampaio Jr., 1999, p. 136).
Trata-se de uma economia dependente, caudatria, que
trabalha para alimentar as economias dominantes. O desenvol-
vimento capitalista na sociedade brasileira profundamente in-
duzido, graduado e controlado de fora. Embora tenha havido
transformaes econmicas, demogrficas, tecnolgicas, cultu-
rais e polticas sem precedentes, no houve um movimento aut-
nomo, o capitalismo monopolista se imps de fora:
268
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
O capitalismo monopolista no eclode nas economias perifricas
rompendo o seu prprio caminho, como uma fora interna irre-
primvel que destri estruturas econmicas ou extraeconmicas.
Vindo de fora, ele se superpe, com o supermoderno ou o atual,
ao que vinha de antes, ou seja, o moderno, o antigo e o arcai-
co, aos quais nem sempre pode destruir e, com frequncia, preci-
sa conservar (Fernandes, 2006, p. 313-314).
A dupla articulao composta pela dependncia e pela ma-
nuteno de foras produtivas e relaes de produo anacrnicas,
vigentes no campo brasileiro e baseadas na extrema explorao do
trabalho, que serviram de sustentao para o crescimento da eco-
nomia urbana e industrial interna e tambm para a transferncia
de excedentes para o exterior.
7
Esse processo se aprofunda ao lon-
go do desenvolvimento do capitalismo na sociedade brasileira e
fundamentado no uso recorrente da violncia contra os pobres.
As tenses latentes, advindas da extrema explorao do tra-
balho e do alijamento forado das classes subalternas com rela-
o participao poltica, so controladas por meio da violncia
sistemtica contra os despossudos, humilhados e impedidos de
organizarem-se na defesa de seus interesses. Por essa razo, Flo-
restan (2006, p. 251) qualifica o capitalismo dependente como um
capitalismo difcil, j que deixa pouca alternativas efetivas s bur-
guesias que lhe servem, a um tempo, de parteiras e amas-secas.
A burguesia brasileira tem por caracterstica a impotncia nas
relaes que estabelece externamente, j que a estreita associao
com o capital internacional foi a linha de menor resistncia para
7
O socilogo Francisco de Oliveira (2003, p. 69), em A crtica razo dualis-
ta, realiza uma anlise que atribui como especificidade particular de nosso
capitalismo o fato de reproduzir e criar uma larga periferia onde predo-
minam padres no capitalsticos de relaes de produo, como forma e
meio de sustentao e alimentao do crescimento dos setores estratgicos
nitidamente capitalistas, que so a longo prazo a garantia das estruturas de
dominao e reproduo do sistema.
269
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
acelerar o crescimento econmico. E, simultaneamente, a onipotn-
cia um dos seus traos marcantes nas relaes que estabelece com
as classes exploradas, se opondo e reprimindo qualquer contesta-
o da ordem. Desse modo, no possvel conciliar capitalismo e
democracia, sendo necessrio fechar o espao poltico para mu-
danas sociais construtivas. Sobre a especificidade autocrtica de
nossa revoluo burguesa, Florestan (2006, p. 340) afirma:
A, a Revoluo Burguesa combina nem poderia deixar de faz-
lo transformao capitalista e dominao burguesa. Todavia,
essa combinao se processa em condies econmicas e histrico-
sociais especficas, que excluem qualquer probabilidade de repe-
tio da histria ou de desencadeamento automtico dos pr-
requisitos do referido modelo democrtico-burgus. Ao revs, o
que se concretiza, embora com intensidade varivel, uma forte
dissociao pragmtica entre desenvolvimento capitalista e demo-
cracia; ou usando-se uma notao sociolgica positiva: uma forte
associao racional entre desenvolvimento capitalista e autocracia.
Assim, o que bom para intensificar ou acelerar o desenvolvi-
mento capitalista entra em conflito, nas orientaes de valor me-
nos que nos comportamentos concretos das classes possuidoras e
burguesas, com qualquer evoluo democrtica da ordem social.
A noo de democracia burguesa sofre uma redefinio, que
dissimulada no plano dos mores, mas se impe como uma realida-
de prtica inexorvel, pela qual ela se restringe aos membros das
classes possuidoras que se qualifiquem, econmica, social e politi-
camente, para o exerccio da dominao burguesa.
A ditadura militar, que se iniciou em 1964, cumpriu o papel de
uma contrarrevoluo, j que deveria associar modernizao capita-
lista e regenerao dos costumes e estabilidade dentro da ordem.
Dependncia e subdesenvolvimento mantiveram-se ao lon-
go do tempo e constituem caractersticas que compem a parti-
cularidade do capitalismo brasileiro. Esta dupla articulao re-
ciclou-se ao longo do tempo, adaptando-se s novas condies e
aos novos interesses das naes centrais. Em suas palavras:
270
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
A dupla articulao impe a conciliao e a harmonizao de
interesses dspares (tanto em termos de acomodao de setores
econmicos internos quanto em termos de acomodao da eco-
nomia capitalista dependente s economias centrais); e, pior que
isso, acarreta um estado de conciliao permanente de tais inte-
resses entre si. Forma-se, assim, um bloqueio que no pode ser
superado e que, do ponto de vista da transformao capitalista,
torna o agente econmico da economia dependente demasiado
impotente para enfrentar as exigncias da situao de dependn-
cia. Ele pode, sem dvida, realizar as revolues econmicas, que
so intrnsecas s vrias transformaes capitalistas. O que ele
no pode levar qualquer revoluo econmica ao ponto de rup-
tura com o prprio padro de desenvolvimento capitalista de-
pendente. Assim, mantida a dupla articulao, a alta burguesia,
a burguesia e a pequena burguesia fazem histria. Mas fazem
uma histria de circuito fechado ou, em outras palavras, a hist-
ria que comea e termina no capitalismo competitivo dependente.
Este no pode romper consigo mesmo. Como a dominao bur-
guesa, sob sua vigncia, no pode romper com ele, a economia
capitalista na periferia fica condenada a dar novos saltos atravs
de impulsos que viro de fora, dos dinamismos das economias
capitalistas centrais (Fernandes, 2006, p. 293).
Portanto, na viso de Florestan, romper com a dependncia
e com o subdesenvolvimento no sentido de uma integrao do
conjunto da populao no desenvolvimento econmico e social,
com democracia e soberania nacional, envolve a superao do
modo de produo capitalista.
consideraes finais
As anlises de Caio Prado Jnior e de Florestan Fernandes
acerca de nossa formao histrica so essenciais para a compre-
enso dos desafios econmicos, sociais e polticos contempor-
neos. O grande esforo desses dois intelectuais em compreender
a particularidade do capitalismo brasileiro foi bastante profcuo.
271
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
Nessas consideraes finais ressaltaremos aspectos da interpre-
tao dos autores que podem contribuir para a reflexo sobre
alguns de nossos problemas atuais.
Caio Prado, ao assinalar o sentido da colonizao como
o trao histrico que marca nossa industrializao, nos fornece
elemento de grande importncia para a anlise dos desafios de
nosso tempo. Alguns estudiosos do pensamento deste autor che-
gam a afirmar que, embora o historiador possa ter carregado nas
tintas quando ressaltou a prevalncia de nosso passado colonial,
sua interpretao pode lanar luz sobre os acontecimentos que
ocorrem a partir da dcada de 1990, quando o desmonte neoli-
beral da indstria colocou em evidncia as bases frgeis sobre as
quais ela se ergueu. Esse ponto salientado por Carlos Nelson
Coutinho (2000, p. 22), quando afirma que:
Talvez at se possa dizer que Caio Prado sublinhou excessivamente
a conservao do velho no Brasil moderno, que subestimou o
processo de industrializao que se expande sobretudo depois de
1930 etc., a ponto de dizer como o disse ainda em meados dos
anos 1970 que continuvamos essencialmente o mesmo do pas-
sado: uma economia colonial, voltada para os mercados interna-
cionais, incapaz de gerar as bases de uma autntica nacionalidade.
Mas talvez o que fosse um exagero nos anos 70 tenha se tornado
hoje, pelo menos, um risco real: o desmonte da nao promovido
pelo neoliberalismo, ao reforar nossa dependncia ao capitalismo
internacional e acentuar a iniquidade e a excluso social, no tem
feito mais do que reforar o velho e o arcaico (os traos coloniais)
sob a falsa aparncia do novo e do moderno (...).
Na dcada de 1990, a abertura comercial e as privatizaes
acarretaram vendas e fuses de empresas nacionais ao capital es-
trangeiro, assim como assistiu-se a um processo de desindustrializa-
o, com a perda da participao da indstria na economia nacional
(Filgueiras, 2011). Houve a quebra de elos nas cadeias produtivas dos
setores industriais mais intensos em tecnologia (Carneiro, 2002).
272
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
A maior participao das atividades primrias na econo-
mia brasileira se evidenciou pelo crescimento de nossa dependn-
cia com relao s nossas exportaes agrcolas. Basta analisar
nossa pauta exportadora. Nos ltimos dez anos, cresceram pro-
porcionalmente mais as exportao de bens primrios. Segundo
Guilherme Delgado (2011, p. 18):
As exportaes brasileiras quadruplicaram em uma dcada, pas-
sando de 50 bilhes a 200 bilhes de dlares entre 1999 e 2010 e
esse incremento significativo puxado pelos produtos primrios
(...) que pulam de 40% a 60% da pauta exportadora.
Paralelamente, assistiu-se intensificao da explorao do
trabalhador agrcola, o que pode ser comprovado pelas mortes
por exausto fsica daqueles que atuam no corte da cana-de-a-
car no Estado mais rico do pas: So Paulo. Entre 2004 e 2007,
pelo menos 19 trabalhadores morreram por excesso de trabalho
nos canaviais paulistas. Segundo a sociloga Maria Aparecida
Moraes Silva (apud Zafalon, 2007), os trabalhadores chegam a
cortar 15 toneladas ao dia e recebem, no sculo XXI, trs vezes
menos do que recebiam na dcada de 1980, cerca de R$ 2,50 por
tonelada cortada. Tal como Florestan Fernandes (2008) nos indi-
cou, a extrema explorao dos trabalhadores agrcolas constitui
o alicerce do capitalismo brasileiro; com base na extrao das
riquezas geradas por esses trabalhadores que o pas bate recordes
na produo de etanol, como o maior produtor mundial.
Segundo Florestan (2006), os traos mais gerais que carac-
terizam o capitalismo brasileiro so a dependncia e o subdesen-
volvimento, expressos nas relaes entre capital e trabalho, em
condies amplamente desfavorveis para o segundo. Esses traos
se manifestam muito claramente se analisamos o que Guilherme
Delgado (2011) chamou de o atual pacto de economia poltica,
que associa o Estado brasileiro, as cadeias agroindustriais e os
grandes proprietrios de terra. O Estado fornece crdito abun-
273
Fabiana Rodrigues | Paulo Alves de Lima Filho
dante e barato, formulando uma poltica agrria voltada aos in-
teresses do grande capital que se aproveita das riquezas geradas
no campo brasileiro. Nas cadeias agroindustriais esto as grandes
multinacionais do agronegcio, juntamente com aqueles que his-
toricamente monopolizam a propriedade da terra no Brasil. Esses
interesses articulados colocam o Brasil entre os maiores pases
agrrio-exportadores do momento, provendo ganhos gigantescos
para a burguesia brasileira e para o capital estrangeiro. Ao mesmo
tempo em que conservam terrveis condies de trabalho, como
apontamos acima, alm de provocar contaminaes pessoais e de
recursos hdricos pela intensificao do pacote tecnolgico dos
agrotxicos e provocar srias degradaes ao meio ambiente.
referncias bibliogrficas
ANTUNES, R. Um pensamento insubmisso. In: FERNANDES, F. Ca-
pitalismo dependente e classes sociais na Amrica Latina. 4 ed.
So Paulo: Global, 2009.
CARNEIRO, R. Desenvolvimento em crise. A economia brasileira no
ltimo quarto do sculo XX. So Paulo: Editora da Unesp/ IE
Unicamp, 2002.
COUTINHO, C. N. Apresentao. In: RGO, R. M. L. Sentimento
do Brasil. Caio Prado Jnior Continuidades e mudanas no
desenvolvimento da sociedade brasileira. Campinas: Editora da
Unicamp, 2000.
DELGADO, G. Rumos da reforma agrria e da questo agrria conexa.
In: Caderno de programao e resumos da V Jornada de estudos em
assentamentos rurais. Campinas: Unicamp, 2011.
FERNANDES, F. A contestao necessria. So Paulo: tica, 1995.
. A revoluo burguesa no Brasil. 5 ed. So Paulo: Globo,
2006.
. Anotaes sobre capitalismo agrrio e mudana social
no Brasil. In: . Sociedade de classes e subdesenvolvi-
mento. 5 ed. So Paulo: Global, 2008.
FILGUEIRAS, L. O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinmica e
ajuste no modelo econmico. Disponvel em: http://www.cibera.
274
Notas sobre a formao histrica do Brasil e seus desafios contemporneos
a contribuio de Caio Prado Jnior e Florestan Fernandes
de/fulltext/16/16049/ar/libros/grupos/basua/COSFilgueiras.pdf
Acesso em: 15 jun. 2011.
KONDER, L. A derrota da dialtica. A recepo das ideias de Marx
no Brasil, at o comeo dos anos 30. So Paulo: Expresso Po-
pular, 2009.
OLIVEIRA, F. Crtica razo dualista. So Paulo: Boitempo, 2003.
PRADO JR., C. A Revoluo Brasileira. 3 ed. So Paulo: Brasiliense ,
1968.
. Evoluo Poltica do Brasil. 6 ed. So Paulo: Brasiliense ,
1969.
. Formao do Brasil contemporneo. So Paulo: Brasi-
liense; Publifolha, 2000.
. Histria e desenvolvimento A contribuio da historio-
grafia para a teoria e prtica do desenvolvimento brasileiro. So
Paulo: Brasiliense, 1972.
. Histria Econmica do Brasil. 22 ed. So Paulo: Brasi-
liense, 1979.
RODRIGUES, F. de C. O papel da questo agrria no desenvolvimento
do capitalismo nacional, entre 1950 e 1964. In: PRADO JR., C.;
FURTADO, C.; RANGEL, I. e autores pecebistas. Campinas: IE
Unicamp. (Dissertao de Mestrado), 2005.
SAMPAIO JR., P. de A. Entre a Nao e a barbrie Os dilemas do
capitalismo dependente em Caio Prado, Florestan Fernandes e
Celso Furtado. Petrpolis, RJ: Vozes, 1999.
SILVA, M. A. M. Entrevista. In: Revista NERA, ano 11, n 12, janeiro/
junho de 2008.
ZAFALON, M. Cortadores de cana tm vida til de escravo em SP. In:
Folha de So Paulo, 29 de abril de 2007.
275
a poeira dos mitos: revoluo e
contrarrevoluo nos capitalismos da misria
Paulo Alves de Lima Filho
Rogrio Fernandes Macedo
introduo
Neste trabalho, pretendemos delinear as linhas de fora a
definir as alternativas de futuro de alguns pases da Amrica La-
tina ou, dito de outra forma, as alternativas socioeconmicas dos
capitalismos da misria do continente latino-americano. uma
espcie de exerccio de sntese, da o formato ensastico.
Longe de ns supor ser o nosso capitalismo da misria
transformvel em seu oposto atravs de reformas capitalistas su-
cessivas. Esta operao terica metafsica j foi tentada pratica-
mente no Brasil tanto pela Revoluo de 1930 como pelo desen-
volvimentismo no ps-guerra, at o golpe de Estado civil-militar
de 1964.
Por sua vez, outras operaes desse tipo foram mundial-
mente concebidas por vrias correntes da filosofia, poltica e
economia poltica do sculo XX. Todas igualmente fracassadas
devi do ao mesmo motivo: a impossibilidade histrica de conter e
educar o capital dentro de limites socialmente justos, temporal-
mente urgentes e humanamente necessrios.
276
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
as operaes tericas metafsicas
A assim chamada teoria do comunismo cientfico, corpo
terico do socialismo real, proclamou, nos anos 1970, a supe-
rao do estado e das mercadorias via sua mxima potenciao,
assim como a disciplina plena do capital atravs do planeja-
mento
1
; por outro lado, a teoria do Estado do bem-estar social
de matriz keynesiana sups haver encontrado o modo final de
domesticao do capital via teoria da conteno infinita dos
ciclos econmicos e da justia social com abundncia consumis-
ta, atravs do controle da demanda capitalista
2
; de igual modo,
nos pagos latino-americanos e de outras regies ps-coloniais,
o desenvolvimentismo teorizou realizar uma revoluo capita-
lista consentida pelas potncias do capital dominante, realiza-
dora da soberania nacional e da autonomia econmica sem re-
voluo capitalista radical
3
, projeto esse atualmente relanado
(e requentado) pelo neodesenvolvimentismo de matriz tambm
cepalina, cujo expoente mximo parece ser, no Brasil, o PT e
seus governos
4
; por fim, a assim chamada revoluo friedma-
niana, neoliberal, via retorno milagroso ao Velho Testamento
liberal nova e supostamente reencontrando a regncia divina
nos mercados-, a qual jaz hoje sob os escombros de seu mais
recente fragoroso fracasso, nesta nova etapa da crise do capital
na fase histrica de seu declnio final. Esta qudrupla expresso
1
Os congressos do PCUS dos anos 1970 e os manuais de economia poltica
do socialismo assim o atestam.
2
A obra de Galbraith eloquente manifesto nesse sentido. Diga-se, a bem da
verdade, que ele soube constatar o fracasso das suas melhores esperanas e
apontar as foras do retrocesso.
3
A ideologia da revoluo de 1930 e tambm a da Cepal so variantes do
acima afirmado.
4
Vejam-se documentos recentes da Cepal e a sntese da teoria geral do PT,
in Emir Sader e Marco Aurlio Garcia (orgs.) Brasil, entre o passado e o
futuro. So Paulo, Editora da Fundao Perseu Abramo, 2010.
277
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
terica da transformao social no sculo XX e XXI funda-se
na incompreenso da categoria capital como categoria societ-
ria mundialmente irreformvel e reitora da ordem capitalista,
posto que seu modo imanente de ser, seu carter ontolgico est
em destruir sistematicamente todos os limites a ela impostos
em primeiro lugar os terico-metafsicos , at o limite da
autodestruio da humanidade.
as revolues burguesas
as revolues burguesas conservadoras e o novo mundo
ibrico
Nas sociedades capitalistas evoludas atravs de revolues
burguesas conservadoras note-se, a maioria esmagadora delas,
pois as revolues burguesas radicais na histria do capitalismo
so somente quatro: a holandesa, a inglesa, a norte-americana e a
francesa , em especial as de matriz colonial, tal como as geradas
a partir do Novo Mundo ibrico, a superao dos capitalismos
ali constitudos obra capitalista impossvel.
Sua forma histrica necessria e caracterstica a de serem
sociedades capitalistas da misria, impossvel de ser superada a
no ser por revoluo anticapitalista, tal como historicamente
ocorreu em nosso mundo ps-colonial ibrico no caso exemplar
da Revoluo Cubana. Em outras latitudes da Europa Oriental
e sia, outras revolues exemplares tomaram tambm a for-
ma anticapitalista ou socialista (Rssia, China, Vietn etc.). Os
apndices coloniais e neocoloniais tambm ousaram realizar sua
emancipao nacional atravs de revolues autoproclamadas
socialistas, como o caso das ex-colnias portuguesas da frica
e mesmo a da frica do Sul.
Na Amrica Latina, as sucessivas e infinitas revolues
e contrarrevolues polticas ocorridas desde a Independn-
278
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
cia em nada detiveram a marcha do capital. Assim que, no
Brasil, Revoluo de 1930 sucedem-se os episdios de 1935
e 1937 seguidos da contrarrevoluo de 1964, a qual dar lu-
gar proclamao in democracia de suas exquias somente em
1995, na primeira fala do trono de FHC; o qual por sua vez
sucedido pelo governo de Lula que se elege contra o octanato
fernandista. Desse modo, apesar das sucessivas tempestades
polticas, de 1930 a este ano da graa de 2011, no terreno da
reproduo do capital temos a ascenso vertiginosa do capital
industrial e deste ao financeiro e aos balbucios imperialistas
e promessas de segunda independncia via capitalizao do
pr-sal e realizao enfim do Brasil Potncia desejado porm
adiado sob a ditadura e sua consequente entrada no rol dos
pases detentores de complexos militar-industriais, desta fei-
ta apontando a subordinao da repblica interdependncia
com a Frana.
Nem Sarney ou Collor e, muito menos, FHC ou Lula conce-
beram controles ou reverso do capital financeiro em sua marcha
imperial-hegemnica acelerada. Ao contrrio, foram todos, a seu
modo, parteiros da modernidade subalterna e monopolista.
O sentido da ascenso condio de potncia monopo-
lista e mantenedora da misria capitalista por meio da tritu-
rao sistemtica e metdica do poder popular, democrtico,
antimonopolista e anticapitalista revela o carter da evoluo
das revolues burguesas conservadoras: eternamente abertas e
subordinadas s exigncias do capital mundial, conservadoras
das classes pretritas aburguesadas (coloniais e neocoloniais) e
afirmadora das novas classes burguesas a elas aliadas (em espe-
cial as velhas e novas pequenas burguesias), devastadoras das
dimenses emancipadoras das classes populares e proletrias
cronicamente miserabilizadas. Enfim, capitalismo da misria,
capitalismo subordinado, miserabilidades acumuladas em fases
sucessivas e necessariamente irresolvidas.
279
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
revoluo e contrarrevoluo na amrica latina
A contrarrevoluo capitalista recente, dos sculos XX e XXI,
movida antes de tudo pelo imperialismo norte-americano e suas
foras mundiais aliadas contra os processos das emancipaes so-
cioeconmicas e polticas da maioria dos pases latino-americanos
(assim como da Europa Oriental, sia e frica); a partir dos anos
1930, evoluir distintamente em vrios grupos de pases.
Grosso modo, apesar das suas diferenas especficas, obser-
vamos uma continuidade da subalternidade imposta pelos dita-
mes do capital financeiro mundialmente dominante, ou seja, da
continuidade da reverso dependente alcanada pela contrarre-
voluo, em pases tais como a Argentina, o Brasil, o Chile e a
Colmbia aqueles, no Cone Sul, onde mais avanou a industria-
lizao , e ruptura da subalternidade ou dos laos de dependn-
cia dinmica da mundializao financeira, tal como ocorreu
em Cuba e hoje ocorre na Bolvia, no Equador e na Venezuela,
pases onde a industrializao alcanou patamares inferiores aos
do primeiro grupo. As continuidades conformaro capitalismos
monopolistas subordinados ao capital financeiro, ao passo que
as rupturas se abriro a dinmicas de expanso de sociedades
anticapi talistas. A atual evoluo assimtrica desses pases (assi-
nale-se que em outros momentos os processos de ruptura foram
liquidados, tal como ocorreu no sculo XX na Bolvia, Chile,
Brasil, Argentina etc.), nos instiga a vislumbrar suas razes e tra-
jetrias possveis de modo a precisarmos a atual etapa da evolu-
o histrica latino-americana.
continuidade e ruptura: o papel da burguesia industrial e da
pequena burguesia
As burguesias da industrializao, criadas pelas revolues
polticas na crise dos anos 1930, ao lado das derivaes das ve-
280
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
lhas burguesias coloniais, participaram ativamente dos vrios
processos nacionais da contrarrevoluo capitalista. Abraaram
a causa do desvio pr-imperialista de suas industrializaes, ou
seja, da liquidao sistemtica de suas dimenses emancipadoras
em todos os planos da reproduo social: econmico, social, po-
ltico, cultural, cientfico-tecnolgico etc. desnecessrio dizer
que, em maior ou menor medida, tal reverso histrica se expres-
saria atravs de nova forma ideolgica, de matriz neocolonial,
bebida de vrias fontes, algumas das quais nativas.
A pequena burguesia, vanguardeira da industrializao
(com a brilhante exceo da Colmbia)
5
, e seu carro-chefe ideo-
lgico nesse processo, o cepalismo (mais as suas outras vertentes
nacionais; no caso do Brasil, a emancipao econmica torna-se
poltica partidria logo aps o fim da Guerra do Paraguai), cujo
intento era a conquista de autodeterminao econmica nacio-
nal solidria (sem ser submissa) com o imperialismo e (acredita-
va-se) consentida por este derrotada e o poder passa, ao longo
dos anos 1960, aos blocos poltico-econmicos vinculados li-
quidao dessas premissas, inclusive ao ncleo pequeno-burgus
golpista (no caso do Brasil, setores do Exrcito direita do bloco
varguista).
Ao voltarem ao poder, findo o longo ciclo das ditaduras
civil-militares, os partidos pequeno-burgueses aderem ordem
subalterna criada por aquelas, tornando-se aliados dos velhos e
desacreditados partidos golpistas ou seus derivados ps-ditadu-
ras. Seus partidos passaro a ser os fiadores da nova ordem de-
mocrtica, geralmente restritos reproduo da subalternidade,
ou seja, a uma ordem econmica, poltica e social adequada a
5
Vide Meja, lvaro Tirado. Introduccin a la historia econmica de Co-
lmbia, Bogot, Panamericana editorial, 2009; Garcia, Antonio. Colm-
bia. Esquema de una repblica seorial, Bogot, Ediciones Cruz del Sur
Ltda, 1977; Gmez, Gonzalo Sanchez. Guerra y poltica en la sociedad
colombiana. Bogot, Nomos, 2008.
281
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
esse objetivo, ou seja, dinmica imperial do capital financeiro.
O abrao explcito nova ordem neoliberal no foi mais que uma
natural decorrncia desse processo.
Ela conduzir a Argentina, caso exemplar, ao p da mis-
ria proletria expandida, desindustrializao ampliada e li-
quidao do brao capitalista estatal passvel de novamente cair
em mos autonomistas. A outrora potncia social e econmica
suposta e injustamente pensada como europeia ou quase isso
viu-se obrigada a morder o solo da misria universal das ex-
colnias ibricas.
Esse foi e permanece sendo, em maior ou menor medida, o
panorama geral da fase neoliberal do capitalismo da misria em
toda a parte. assim que outras novas misrias se acrescentaro
ancestral misria dos demais capitalismos latino-americanos, em
graus to variados que suscitaro novas rupturas polticas na at
ento unnime nova ordem subalterna ao capital financeiro. As
estveis ditaduras democrticas das burguesias, com suas estveis
maiorias esmagadoras nos parlamentos, a vicejarem por toda a
parte, passaram a ser seriamente contestadas pelos estratos so-
ciais fora da nova ordem, da Argentina Venezuela. As doses de
represso necessrias estabilidade poltica ou seja, manuten-
o no poder das foras pr-imperialistas , evidenciaram a difi-
culdade da governabilidade neoliberal. Ao longo dos anos 1980
e da em diante, o tema da governabilidade ser cantado a muitas
vozes em todo o continente, refletindo as instveis condies de
reproduo poltica da ordem mundial do capital financeiro.
Nessa nova fase, outros estratos pequeno-burgueses toma-
ro a vanguarda do processo de construo da ordem subalterna.
O centro dinmico destes se deslocar, dos anos 1960 at nossos
dias, do exrcito s universidades, ou melhor, ao complexo edu-
cacional e cientfico-tecnolgico estatal-empresarial. Esta ser a
nova forma histrica da sua funcionalidade especfica dentro do
complexo do capital, onde ela cumprir funes estratgicas.
282
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
A pequena burguesia necessita desse complexo para par-
ticipar do poder, preencher os quadros polticos e tcnicos no
Estado, na estrutura partidria e sindical e, assim, adaptar-se
s necessidades (demandas) do capital, para ser ali o seu gestor
competente e flexvel, adaptado a cumprir ordens assim como a
atender a demanda por conhecimento sobre e para as mercado-
rias, para a acumulao exigida pelos complexos mais podero-
sos do capital monopolista: em diapaso que vai da melhoria das
raas bovinas e humana, da laranja e suas pragas, do caf, idem
da cana, do cacau etc., ao novo funcionamento dos fundos de
penso na macrodinmica econmica.
O complexo educacional-cientfico e tecnolgico passa a ser
simples reprodutor e no mais criador de novo saber e, muito
menos, de novos movimentos revolucionrios. Regredimos desse
modo ao estgio pr-universidade, quando muito bastavam as
faculdades e escolas (les grands coles na tradio francesa) aos
complexos da economia colonial: Direito, Farmcia, Medicina,
Engenharia, Minas as mais antigas e funcionais aos interes-
ses do capital.
6
Quando a burguesia colonial perdeu o poder em
1930, a revoluo inventou a universidade (aqui temos a obra de-
cisiva e ainda pouco estudada de Josu de Castro)
7
, no que ento
foi seguida pelas classes derrotadas. Inveno essa que consistiu,
em decisiva medida, adio de uma cabea dirigente ilustrada
ao aglomerado de faculdades tecnolgicas e escolas, destinada a
ser formadora da nova elite poltica, as faculdades de filosofia,
cincias e letras. A experincia da USP fracassou (como demons-
trou Florestan), assim como a da Universidade do Brasil ou a
nova universidade de Darcy Ribeiro, seja em Braslia ou no norte
6
Vide Magliulo, Bruno Les grands coles. Paris, PUF, 1982.
7
Vide Macedo, Rogrio Fernandes. O fenmeno da fome no Brasil: estudo
sobre a Geografia da Fome de Josu de Castro. Dissertao de mestrado,
2005, Unesp-Araraquara, mimeo.
283
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
fluminense (que no puderam estar, por azares da subordinao,
altura dos objetivos do mestre fundador).
A real nova universidade, nesta fase histrica na qual a pe-
quena burguesia abandona seu ciclo transformador e adere ao ca-
pitalismo monopolista subordinado s poder ser aquela advinda
da revoluo democrtica e popular anticapitalista e apontada
desde j transio comunista, ou seja, sociedade sem merca-
dorias, sem capital, sem classes. No h mais tempo histrico
para salv-la de si prpria, deste seu novo destino subordinado
ao capital monopolista. Ela dever desaparecer como momento
importante da misria deste capitalismo.
Em outro mbito, ao longo do reinado civil-militar, a peque-
na burguesia varguista e depois janguista foi expulsa do controle
estratgico das instncias estatais e das riquezas nacionais (ainda
que no completamente) que garantiriam a soberania do Estado.
As privatizaes complementaram o golpe de 64, dando-lhe um
ntido sentido neoliberal, cuja amplido fora adiada at ento
devido hegemonia inicial do poder pela burguesia industrial
paulista e pelo controle militar (pequeno-burgus) dos ncleos
estratgicos do Estado produtor de riquezas, setores estratgicos
(energia, telecomunicaes, complexo blico, alguns setores da
C&T) e rgos de planejamento.
A construo do complexo industrial-militar, por seu turno,
projetou os militares ao corao da grande burguesia. Transfor-
maram-se estes em empresrios maiores e globais com o que so-
brou da indstria blica (Embraer)
8
. Mas a funo capitalista de
orientar rumos prprios ao Estado, embora complementares aos
do capital financeiro, foi destroada com as privatizaes e demais
perdas planejadas do controle do Estado, realizadas at ento por
parte de representantes desse capital no liberal remanescente.
8
Vide Lima Filho, Paulo Alves A economia poltica do complexo industrial-
militar. O caso do Brasil. Tese de doutorado. PUC-SP, 1993, mimeo.
284
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
Essas transformaes destroaram a revoluo poltica de
1930 e suas reverberaes emancipatrias (como sabemos, amb-
guas e timoratas), realizando uma verdadeira contrarrevoluo,
ou melhor, completando-a, pois iniciara em 1964. J em 1964
temos a grande e definitiva derrota das antigas pequenas burgue-
sias democrticas (mais os seus aliados subalternos) e sua estra-
tgia de conduo de projeto de soberania nacional, liquidada
com o golpe.
Na transio transada ps-1984 s tivemos outros atos da
derrota, que o socialismo pequeno-burgus no consegue ver, rei-
terando o velho e impossvel sonho de salvao capitalista do
capitalismo da misria. Se nada fizermos, eles prosseguiro com
essa pantomima por mais um sculo.
sobre o ventre das revolues burguesas conservadoras
O ventre das revolues burguesas conservadoras est ple-
no de monstros. Guerras, sublevaes, revolues e contrarrevo-
lues, morticnios e genocdios nele sucedem-se infinitamente
sem que elas consigam dar luz um filho sadio e longevo. Estas
revolues se desenrolam pela histria como tortuoso caminho
eternamente incompleto. Marcham para um futuro que nunca
alcanam. Parecem nunca serem modernas se miradas no espelho
das poucas filhas prdigas das revolues burguesas radicais.
Esto habitadas pelos personagens mais bizarros nascidos
do polo conservador nunca destrudo e pertencem a uma ordem
particularmente desumana de capitalismo. A ordem dos capita-
lismos da misria (alguns s recentemente elevados ao patamar
remediado ou rico). Estes constituem uma forma particular de
capitalismo dedicado ao obscurantismo militante, alienado da
emancipao, arrastando-se atrs dela com sculos de rabeira,
j decadente sem haver atingido o apogeu das suas congneres
radicais.
285
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
Objeto to complexo, capaz de ludibriar os mais eminentes
historiadores, inclusive os marxistas
9
. Se Hobsbawm, em 2007,
expressa perplexidade e incompreenso sobre o porqu de o con-
tinente latino-americano ter permanecido margem da histria
ocidental e a continua, se ele capaz de tamanha absurdidade,
ento estamos todos perdoados. Somos de fato uma particula-
ridade ainda por decifrar, abstrusa apesar de nossos mais que
seculares esforos tericos.
10
Ocorre, muito resumidamente, sermos no o atraso, mas a
vanguarda da evoluo do capital. A inveno do Novo Mundo
Ibrico colonial, logo mundializado ao longo dos sculos XV a
XVII, foi o berrio do sistema mundial capitalista, o espao de
plena liberdade com o qual o capital contou para o seu mais r-
pido e desimpedido crescimento. Nascemos como forma histri-
ca intencional e planejada do capital e nos tornamos naes por
acaso. Nossa medida histrica , portanto, o capital mundial em
sua forma genrica, mais desenvolvida. Foi dessa forma que tran-
sitamos de um polo nacional dominante a outro.
9
Vide entrevista de Hobsbawm na Folha de S. Paulo, de 30/09/2007, na qual ele
diz: Deixando de lado juzos de valor (...) O mais impressionante para mim hoje
perceber que antes eu considerava 40 anos um tempo muito longo na histria,
e agora sei que cabe numa vida humana. Para um historiador, a Amrica Latina,
o Brasil, so lugares onde voc pode acompanhar um processo inteiro. Como foi
importante para Darwin com relao biologia, acontece da mesma forma para
a histria. um continente incrvel. Mas o que continua sendo um mistrio para
mim por que, apesar de seu grande potencial, a Amrica Latina tenha perma-
necido s margens da histria ocidental e a continua. E desse modo, tambm,
que est entrando no sculo 21 (itlico colocado por mim, PALF).
10
O brilhante historiador colombiano Germn Arciniegas bem retrata em sua
obra as dimenses inesperadas e espetaculares de nossa particularidade,
plenamente entranhada na historia ocidental. Ver em especial Arciniegas,
Germn Con Amrica nace la nueva historia. Textos escogidos. Seleccin
y prlogo de Juan Gustavo Cobo Borda. Bogot, Tercer Mundo Editores,
1991, em especial o texto Nuestra Amrica es um ensayo, p. 356-371.
Outra no , tambm, a posio de Marx, expressa em O capital.
286
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
Agora, estamos subordinadamente no patamar genrico
monopolista e sob o imprio mundial absoluto desse capital.
Nosso capitalismo da misria estacionou na sua ltima fase e a
revoluo desapareceu do lxico a no ser em FHC e Lula, sob
a forma da revoluo silenciosa, pr-monopolista. A revoluo
invocada por FHC em seu discurso de posse nada mais era do
que a neoliberal
11
.
o sentido da poltica nas revolues burguesas conservadoras
De modo geral, nas revolues burguesas conservadoras,
h duas linhas de adequao da poltica burguesa ao domnio
absoluto do capital financeiro. No caso do Brasil, a linha su-
bordinada mais diretamente a este, a da direita burguesa ao
estilo do nosso velho Partido Republicano na Primeira Repbli-
ca vinculada ao declnio do Estado como capitalista coletivo
capaz de confrontar-se com a fora poltica e econmica do
capital dominante. Outra linha, a expressar o fortalecimento
do Estado nacional como forma de realizao das outras foras
sociais, inclusive capitalistas e no hegemnicas, necessitadas
de afirmar-se sob o imprio no contestado do capital finan-
ceiro. Esta identifica genericamente o que podemos chamar de
esquerda burguesa, semelhana do que foi entre ns o velho
Partido Democrtico.
11
Esta verdadeira revoluo social e de mentalidade s ir acontecer com o
concurso da sociedade (...) Eu os convoco para mudar o Brasil (1995).
Observe-se a impropriedade conceitual da sinonimizao de revoluo e
mudana. Vide tambm Silva, Fernando Barros, O provocador cordial,
in FSP, 19/06/2011, p. 4-5, entrevista-ensaio comentado pelo jornalista, na
qual FHC rejeita a herana neoliberal: Para FHC, em geral, os intelectuais
tm dificuldades de compreender a poltica pois sofrem de deficit de reali-
dade. Algum de boa-f negaria que o pas que o tucano entregou a Lula era
bem melhor do que o recebido por ele? A maior injustia que fazem comigo
me chamar de neoliberal. O que fiz foi reestruturar o Estado, diz.
287
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
A revoluo burguesa conservadora preza, pois lhe so ima-
nentes, manter suas velhas polaridades polticas imantadas for-
ma do capital dominante. Sua forma modernizada no supera as
limitaes impostas pelo capital em sua dimenso mundial as
foras solidrias e mais diretamente dependentes desta (a direita)
e as foras no automaticamente solidrias e necessitadas de
afirmao contra esta (a esquerda); situao ontolgica do mun-
do colonial ibrico desde o seu nascimento no sculo XV.
PT e aliados de um lado e, do outro, o PSDB e sua coligao
reproduzem as velhas clivagens coloniais. A grande novidade a
persistncia, entre ns, da dimenso ainda muito minoritria das
foras populares da extrema-esquerda, ou seja, da esquerda pro-
letria socialista e comunista. Muitas destas ainda se encontram
atreladas ao polo esquerdo da poltica oficial, em grande medida
porque a teoria da superao revolucionria do status quo neces-
sita resolver os impasses irresolvidos das revolues socialistas
do sculo XX, ou seja, ps-capitalistas.
revolues burguesas conservadoras, revolues socialistas e
outras revolues
Dizamos na introduo deste trabalho que a era histrica
contempornea est imersa nas runas do fracasso de quatro ver-
tentes da transformao social. Que ns vivemos imersos na poeira
dos seus mitos. O denominador comum a explicar o seu fracasso
o pressuposto metafsico de todas elas, sua ignorncia do deslimite
do capital, sua incontvel sede de destruio que nos aproxima da
possibilidade muito real de extino da vida humana sobre o pla-
neta, no mais somente devido aos artefatos atmicos a criar inse-
gurana crescente, mas pelo efeito estufa e destruio acelerada de
biomas vitais, derivados do modo capitalista de produzir.
Dizamos tambm que o processo de modernizao capi-
talista nos marcos das revolues burguesas conservadoras, nos
288
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
capitalismos da misria, atravs de reformas sucessivas, no
capaz de liquidar sua forma particular miservel
12
. E falamos de
misria como categoria total: econmica, poltica, cultural, so-
cial. Ou seja, a particularidade das revolues burguesas con-
servadoras est na sua impossibilidade de saltar autonomamen-
te liquidao da misria atravs do capitalismo (os pases do
Eixo, perdedores da Segunda Guerra Mundial, puderam realizar
essa transio devido deciso norte-americana de financiar sua
reconstruo capitalista). Na Amrica Latina, assistimos ao fra-
casso das revolues polticas redundantes no processo de indus-
trializao sob o influxo ideolgico das vrias teorias desenvolvi-
mentistas e do cepalismo em particular, incapazes de solucionar
radicalmente os impasses polticos e econmicos da industrializa-
o nos marcos imperialistas. A permanente reproduo do polo
conservador faz renovar infinitamente as suas formas obstrusas
conservadoras, como um louco caleidoscpio. O velho renovado
pesar natural e permanentemente sobre o novo, de modo a limi-
t-lo, cerceando o seu alcance e profundidade, tornando-o frgil
no embate monopolista mundial.
Mas no s o salto capitalista autnomo, democrtico, so-
berano, foi e permanece impossvel, como tambm a sua trans-
formao radical em sentido comunista. A revoluo burguesa
conservadora conformar naturalmente as duas iluses: a da
possvel transformao capitalista sem revoluo capitalista ra-
dical e a da transformao socialista radical sem a emancipao
dos trabalhadores. A transformao socioeconmica nos mar-
cos das revolues burguesas conservadoras defronta-se com a
maldio do caleidoscpio, sua forma particular de produo e
reproduo do capital.
12
A dinmica da reproduo social nas revolues radicais, ao contrrio, per-
mitir a liquidao das formas pretritas da misria em seus espaos nacio-
nais, embora as recrudesa no seu sistema mundial.
289
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
Os processos histricos que tomaram a designao de desen-
volvimentismo e socialismo no sculo XX originaram processos
irremediavelmente condenados ao fracasso, ou seja, permann-
cia nos horizontes do capitalismo da misria. Isso absolutamente
no quer dizer capitalismos insignificantes, haja vista os Brics, um
mais poderoso que o outro. Refiro-me, por meio dessa categoria,
sua incapacidade congnita de fazer avanar a acumulao am-
pliada do capital com liquidao dos complexos socioeconmi-
cos pretritos, ou seja, sem a reproduo modernizada das velhas
classes exploradoras e das bases materiais de sua reproduo. De
tal forma que no s observamos a o seu momento genrico, a
involuo comum a todo o sistema capitalista de imanente liqui-
dao da emancipao social nesta entrada na fase do declnio
final (que poder durar sculos), como tambm aquele particular,
redundante na sua impossibilidade de evoluo at os patamares
do apogeu de seus polos radicais no sculo XIX
13
.
A fora irresistvel que mantm at o momento a dinmi-
ca dessas sociedades nos marcos miserveis o prprio capital
como fora social mundial. Da que somente a sua superao
desamarrar o n grdio a atrelar a maior parte da humani-
dade reproduo de sociedades capitalistas da misria. Mas,
enquanto a revoluo anticapitalista no ocorre nos polos do-
minantes do capital (o que supostamente facilitaria a transio
comunista, antes de tudo pela insupervel fora econmica des-
sas revolues, tal como dizia Marx
14
), essa superao ocorrer
13
Sobre o tema do declnio final, vide Bacchi, Srgio La crisis final del capi-
talismo. El hombre y la mquina. Santiago, Ernesto Carmona editor, 2008.
Este tema exige maior desenvolvimento, fique aqui anotado.
14
Vide o trabalho de Marx O Conselho Geral ao Conselho Federal da
Sua Romanda (de 1870), item n. 4, in O partido de classe. Karl Marx e
Friedrich Engels. Porto, Publicaes Escorpio, 1975. v. II, p. 83-84. Igual-
mente, vide carta de Marx a Siegfried Mayer e August Vogt, de 9 de abril
de 1970, in O partido de classe, op. cit. V. II, p. 96.
290
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
e continuar a ocorrer, como ocorreu na histria do sculo XX
e neste sculo, exatamente no universo dos capitalismos das re-
volues conservadoras.
Qual ento o segredo da transio anticapitalista que no
consegue ir alm do capital nesses capitalismos? Qual o segredo
do fracasso dos assim chamados socialismos do sculo XX? Essa
resposta essencial para as revolues do sculo XXI e aquelas
revolues socialistas que ainda persistem.
o segredo da intransitividade comunista
Em trabalhos anteriores, ainda inditos, referia-me ao se-
gredo da intransitividade comunista das revolues socialistas do
sculo XX, como sendo vinculado ao fato de terem ocorrido nos
espaos histricos ainda no plenamente revolucionados pelo ca-
pital. O jovem Marx, ao tratar da particularidade alem, expres-
sou questo metodolgica central.
Marx dizia em 1844, na sua Introduo crtica da filosofia do
direito de Hegel, Como poderia a Alemanha, em salto mortale,
superar no s as prprias barreiras mas tambm as das naes
modernas, isto , as barreiras que na realidade tem de experimen-
tar e atingir como uma emancipao de suas prprias barreiras
reais? Uma revoluo radical s pode ser uma revoluo de neces-
sidades reais, para a qual parecem faltar as condies e o campo
de cultivo.
15
Da que, para ele, de forma natural e necessria, uma revoluo
radical s poderia ocorrer nos polos avanados do capitalismo
e, a partir da, arrastar atrs de si toda a humanidade. o que
Marx afirmaria em 1870 com respeito Frana e Inglaterra.
16
15
Marx, Karl. Introduo crtica da filosofia do direito de Hegel, in Escri-
tos de Juventude, p. 72, Lisboa, Edies 70, 1975.
16
Marx, K. O Conselho Geral ao Conselho Federal da Sua Romanda, em
1/1/1870, in O partido de classe, v. II, p. 83-85, Porto, Ed. Escorpio, 1975.
291
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
Isso no seria propriamente uma novidade, pois j em 1850 Marx
afirmara que o proletariado avanado, o seu partido, s poder
chegar ao poder quando as condies lhe permitirem ampliar as
suas ideias.
17
Engels, por sua vez, reafirmaria isso em 1853.
18
Nenhum milagre poderia fazer desaparecer a categoria capital
por um passe de mgica ou por um simples ato de vontade cons-
ciente. A eliminao da alienao nas conscincias no o mesmo
que a eliminao das relaes reais que produzem e reproduzem a
alienao. Uma humanidade de fato desalienada pressupe, antes
de mais nada, a abolio
19
do capital, ou seja, a emancipao dos
trabalhadores. No bastaria a vontade revolucionria dos prole-
trios alemes para que a sociedade comunista fosse alcanada.
De nada adiantaria tentar dar saltos procedendo a experincias
comunistas, de que, sabemos melhor do que ningum, no haver
chegado a hora prpria. Essas revolues realizariam as tare-
fas que no so diretamente nossas, mas so revolucionrias para
o conjunto da histria e correspondem aos interesses especifica-
mente pequeno-burgueses onde estes so uma enorme parcela
da populao, evidentemente.
20
Esse , em sua essncia, o universo prtico das revolues prolet-
rias do sculo XX, ocorridas em pases capitalistas atrasados.
Elas tiveram que criar as bases materiais para a produo meca-
nizada moderna, resolver as tarefas histricas no realizadas pe-
las burguesias nativas. Estas revolues simplesmente no podem
abolir o capital. Da a manuteno das formas particulares da
sua existncia: o salrio e os preos, a mercadoria, o lucro, o juro
(correntes para os depsitos na caixa econmica), a propriedade
estatal dos meios de produo e vida, assim como as formas jur-
dicas e polticas (Estado etc.), nas quais a propriedade estatal
se apresenta como capital coletivo no social, embora tenha ele-
17
Marx, K. idem, p. 107 (Reunio do Conselho Central, 17/09/1850), v. I.
18
Engels, F. ibidem, p. 149-150, Carta de F. Engels a Joseph Weydemeyer,
12/4/1853, v. I.
19
Mais corretamente, a superao do capital.
20
Engels, F., op. cit., ibidem, p. 149. No caso alemo, ela a verdadeira base
social da ordem estabelecida, como se l no Manifesto Comunista, quan-
do Marx trata do socialismo alemo.
292
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
mentos de capital social, no de capital privado
21
, como ocorre
no capital por aes, na fase financeira deste.
22
Esta forma especfica do capital no privado e no dire-
tamente social confere a este semelhana situao deste sob o
Estado absolutista. Da realizar-se ele atravs de uma reproduo
social altamente smile daquela sociedade, dado que natural-
mente ir conferir a um punhado insignificante de indivduos um
poder altamente discricionrio sobre o seu destino, situao fron-
talmente adversa emancipao dos trabalhadores pelos prprios
trabalhadores. O certo que o controle absoluto sobre o capital
buscar expandi-lo ao mximo e com a maior rapidez possvel
atendendo s necessidades imperiosas e inadiveis de multiplica-
o dos graus de soberania do Estado, no contexto das naes e
atendimento mnimo s necessidades dos trabalhadores. Se bem
no tenhamos mais as classes proprietrias feudais no poder, sua
reproduo altamente complexa e estabelecer com determina-
21
Marx, K. O capital, t. III, cap. XXVII: III- Formao de sociedades por
aes. Com isso: 1) Enorme expanso da escala de produo e das empre-
sas, que era impossvel para capitais isolados, tornam-se ao mesmo tempo
sociais. 2) O capital que em si repousa sobre um modo social de produ-
o e pressupe uma concentrao social de meios de produo e fora
de trabalho recebe aqui diretamente a forma de capital social (capital de
indivduos diretamente associados) em anttese ao capital privado, e suas
empresas se apresentam como empresas sociais em anttese s empresas
privadas. a abolio* do capital como propriedade privada, dentro dos
limites do prprio modo de produo capitalista. 3) Transformao do
capitalista realmente funcionante em mero dirigente, administrador de
capital alheio, e dos proprietrios de capital em meros proprietrios, sim-
ples capitalistas monetrios. (...) produo privada, sem o controle da
propriedade privada (p. 332-333). * O termo Aufhebung seria melhor
traduzido como superao.
22
Lima Filho, Paulo Alves O capital: a rosca sem fim?, So Paulo, 15-
18/07/1988 (mimeo), apresentado como trabalho de ps-graduao (douto-
rado) na disciplina de Estudo do Capital, ministrada pelo professor Octavio
Ianni, na PUC-SP.
293
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
das classes e camadas proprietrias ou no e com seus mais
diretos representantes, antagonismos devastadores. A transio
socialista no era a transio comunista. A partir da histria
real das sociedades do socialismo real, observamos que de fato se
conservava o capital e o desenvolvia, em vez de processar sua
extino. Tal j estava posto nas pesquisas de um dos autores
(Lima Filho) at os anos de 1980. Desde ento um dos autores
se concentrou nos temas correlatos questo da particularidade
dos capitalismos por via colonial, em especial no caso brasileiro.
Mas eis que a sntese encontrada nessa longa trajetria lana no-
vas luzes sobre a transio comunista.
O segredo da transio comunista est na potencialidade e
capacidade efetiva da classe trabalhadora de controlar por si mes-
ma sua autoextino enquanto classe portadora do valor de troca,
valor de sua fora de trabalho. Est na capacidade de dispor de
si a ponto de subverter a ordem das mercadorias e, portanto, do
capital, subtraindo-se ao imperativo de vender a sua fora de tra-
balho por meio da conquista do poder poltico e submisso a si do
Estado, transformado em seu instrumento e no mais fora exter-
na de opresso, aliada extino da propriedade privada sobre os
meios de produo. Da Marx dizer, nos Estatutos da Associao
Internacional dos trabalhadores, em 1871, de forma alguma uma
simples frase de efeito, que a emancipao da classe trabalhadora
deve ser obra da prpria classe trabalhadora, pois esta a exi-
gncia mnima de uma classe capaz de submeter aos seus desgnios
o Estado e o sentido histrico da reproduo social, transforman-
do-a em processo de satisfao das necessidades dos trabalhadores
enquanto produtores de trabalho concreto, de valores de uso
23
. Se
a classe trabalhadora no toma para si, sob seu controle direto, a
23
Karl Marx & Friedrich Engels, Estatutos Generales de la Asociacin In-
ternacional de los trabajadores, in Obras escogidas, v. II, Moscou: Progre-
so, 1976, p. 14.
294
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
transio da fora de trabalho a simples valor de uso, no haver
a extino do reino do capital, no haver emancipao dos tra-
balhadores. A transio comunista, a nova reproduo social o
novo carter da produo e reproduo da vida material, da nova
distribuio e redistribuio de seus frutos, da nova diviso social
do trabalho a recriar e enriquecer o complexo social do trabalho
no sentido da realizao da multiplicao das infinitas potenciali-
dades humanas , somente poder ocorrer se a classe trabalhadora
se classifica desimpedidamente para essa dialtica. Para isso deve-
r realizar livremente o processo de sua autoextino.
No autodenominado socialismo real, a classe trabalhadora
no tem fora e impedida de operar tal transio. Permanecer
uma classe que se perpetua em portadora de valor, produtora de
mercadorias sob o comando do Estado e, assim, portanto, classe
que perpetua a relao capital. O assim chamado socialismo (ou
socialismo real, na formulao sovitica) tal como vingou na teo-
ria e prtica no sculo XX desse modo negao e no simples
estgio da transio comunista. Por fora do predomnio estatal
da via conservadora do capital, se far passar essa teoria do
socialismo como se fosse etapa da transio comunista quando
de fato antitransio comunista. Ocorrer, desse modo, uma
hipostasia da revoluo do capital em revoluo anticapital.
evidente o dano causado ao movimento internacional dos tra-
balhadores pelo predomnio histrico da teoria e prtica dessa
hipostasia a se espraiar realizao das revolues do sculo
XX e teoria e prtica dos partidos revolucionrios (e por que
no tambm dos reformistas?) dos trabalhadores. Marx dizia,
em 1864, no Manifesto inaugural da Associao Internacional
dos Trabalhadores, que A classe trabalhadora j possui um ele-
mento de triunfo: o nmero. Mas o nmero no pesa na balana
se no est unido pela associao e guiado pelo saber.
24
Ocorre
24
Vide Obras escogidas, op. cit., v. II, p. 12.
295
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
que o saber, os fundamentos da teoria da transio comunista,
se perderam de tal modo ao ponto de a teoria do socialismo
ousar conviver e aceitar como verdadeira a sua fantasia hipos-
tasiada. Para os fundadores da revoluo terica materialista,
a teoria nada tem a ver com a sua forma ideolgica partidria,
oficial, obrigatria, emanada de uma certa concepo de partido
comunista, elaborada por seus prceres burocrticos de planto.
A teoria obra dos tericos e do complexo das relaes imanen-
tes a esta sua condio, plenamente livres (e economicamente
emancipados) para indagar a histria, formular a compreenso
de sua dialtica e publicizar livremente os seus ensinamentos,
ou seja, sem estar submetida a quaisquer instncias burocrticas
estatais ou partidrias. Estes ensinamentos, por sua vez, podem
ou no ser absorvidos pela classe trabalhadora, seus partidos,
associaes e mesmo Estados, de tal forma que a teoria pode,
para desgraa da luta pela emancipao dos trabalhadores, estar
em completo descompassso com a ideologia dos prticos. Isso
ocorreu em vida dos fundadores e se transformou em forma his-
trica dominante no sculo XX.
Tal foi e permanece sendo o caso de todas as revolues
proletrias pr-comunistas ou pr-socialistas no mbito das re-
volues burguesas conservadoras. A nica delas a escapar at o
momento desta sina a revoluo cubana. Isso devido ao efeito
da fora coligada de mltiplos aspectos de vrias outras revo-
lues em seu seio, em especial a anti-imperialista a confundir-
se com a antinorte-americana. Ao mesmo tempo, ao lado das
fantsticas conquistas republicanas da revoluo nos campos da
educao, sade, esportes e cincias assim como de seu logro es-
sencial e distintivo, a liquidao da misria. Desse modo a Revo-
luo Cubana, apesar de tambm no ser herdeira da transio
comunista concebida por Marx, ainda est safa do incremento
inexorvel da fora do capital em sua reproduo social a forar
296
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
o seu retorno ao bero matricial da misria capitalista, tal como
ocorreu com a Revoluo Russa
25
.
a longa marcha do imperialismo benvolo: notas sobre
um possvel futuro do capitalismo brasileiro
Ai, esta terra ainda
Vai cumprir seu ideal
Ainda vai tornar-se
Um imenso Portugal.
(Chico Buarque e Rui Guerra)
Pero es demasiado temprano para decir si Dilma lograr con-
centrarse en la visin global. Con el agregado que no es irrele-
vante de que la actual trayectoria brasilea podra llevar a la
formacin de la primera potencia tropical global. Sera slo
sub-imperial? Sera slo cordial? O sera una nueva especie
mutante, impredecible de subimperialismo benigno?
(Pepe Escobar, Asian Times/Liberacin, 03/11/2010).
A eleio de Dilma Roussef deveria prestar-se para exer-
ccios tericos de sntese para que sejam lidos nestes tempos de
baixo prestgio da razo. O tema mais do que momentoso. Os
pouqussimos donos da mdia e o punhado de donos do mundo
e seus poderosssimos ventrloquos se apressam a estender es-
treante presidente os caminhos da preferncia de seus negcios
mundiais. A expresso nacional desses anseios monopolistas se
apresenta basicamente atravs de dois projetos, aos quais pode-
mos denominar provisoriamente de imperialismo benvolo e im-
perialismo malvolo.
25
Vide Ramonet, Igncio Fidel Castro. Biografia a duas vozes. So Paulo,
Boitempo, 2006. Especialmente os captulos XVII, XXV e XXVI.
297
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
A disputa entre esses dois projetos nos marcos da reprodu-
o poltica concebida pela esquerda e direita burguesas fecha-
r um ciclo histrico iniciado com a Revoluo Portuguesa de
1245-1248, derrame da qual veio a ser o Brasil, parte desgarrada
do imprio portugus no sculo XIX, porm sempre firme na
subordinao aos desideratos da acumulao mundial do capital.
O Brasil alcanaria, pois ento, a mxima expresso capitalista
mundial, ora cantada polifonicamente em prosa e verso ao ser
potncia, at que enfim, do capital financeiro ou monopolista. O
imperialismo benvolo, anticolonial, galopa no projeto do ncleo
dirigente do PT. Realizar-se- atravs da Unasul, de uma poltica
externa independente e democrtica, forte apoio estatal aos gru-
pos monopolistas nativos e pela via de altas taxas de crescimento
econmico aliada a polticas sociais redistributivas. Bem distinto
do imperialismo malvolo de carter colonial, representado pe-
las foras do PSDB-DEM, dentes arreganhados s democracias
populares e seus processos de emancipao poltica, econmica e
social, assim como s polticas estatais mais autnomas vis vis
os capitais privados, principalmente os forneos.
Impossvel deter a marcha do Brasil ao seu destino impe-
rialista
26
. O capital monopolista domina a esmagadora maioria
das atividades capitalistas, tanto o nativo quanto o forneo. Este,
majoritrio nos campos mais dinmicos e estratgicos. Todas as
foras do status quo desejam alcanar esse destino anunciado
de grande potncia, a comear pelos militares. Um imperialismo
benvolo, sem ainda apresentar o seu componente belicista, dado
evoluir em espao regional sem potncia concorrente, exceto os
Estados Unidos.
No havendo disputas hegemnicas exacerbadas e recm-
sepultadas as aspiraes manipuladas derivadas da Guerra Fria,
26
Vide Fontes, Virginia. O Brasil e o capital-imperialismo.Teoria e histria.
Rio de Janeiro, Ed. UFRJ/Fundao Osvaldo Cruz, 2010.
298
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
uma atmosfera de concrdia e unidade se estende como forma de
realizao das aspiraes nacionais.
o sentido do futuro
O imperialismo benvolo, definio evitada pela mdia e
outras foras do status quo e substituda pela categoria potncia,
marcharia rumo a um novo milagre econmico agora tambm
social, pois redentor da misria. Este milagre seria derivado dos
lucros do pr-sal, pela irresistvel expanso do mercado interno
e forte empuxe exportador, eixos de uma espiral virtuosa mais
brilhante que a cpula da catedral de Santa Sofia.
Contudo, quo mais o Estado-maior petista se afirma nessa
rota, to mais abandona seus contedos emancipatrios origi-
nais, fincado que est estaca do centro conservador e fler-
tes mais direita, aos quais se obriga aliar para permanecer no
poder e ampliar nele o seu espao. Isso implica em direitizao
do poder, regresso ideolgica, desemancipao crescente, forma
particular desse neoliberalismo social, neodesenvolvimentista,
anticolonial. Em sua benevolncia, de certo modo assemelha-se
aos trajetos dos seus comparsas russos e chineses. No toa o
Brasil j foi chamado de Rssia dos trpicos.
Ao caminhar rumo ao seu pice, desnudando-se das suas
vestes emancipatrias, nele se acentua o predomnio da bandeira
anticolonial como afirmao do Estado nacional, fato que para-
doxalmente o enfraquece e o torna vtima provvel das foras do
imperialismo malvolo, contra as quais Dilma obteve vitria con-
sistente somente no segundo turno. Diga-se assim: a marcha do
Brasil, potncia benvola e benfeitora, vai enfraquecendo ainda
mais o seu projeto nacional. Esta ocorre sob o imprio da fisso
prolongada e sucessiva portanto crnica do ncleo original
do PT, cujo penltimo episdio foi a evico do PSOL e a sada
de Marina Silva, o ltimo. Repete-se a recente regresso histri-
299
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
ca do PMDB e, grosso modo, do bloco de foras derrotado pelo
golpe de 1964.
o momento histrico
Todavia, o momento histrico outro, e o sentido do pro-
cesso, idem. Na ausncia histrica de uma burguesia nacional
autnoma, democrtica, popular e dirigente, a nova pequena
burguesia ou classes mdias, como queiram em seu af de
realizao social, se apresenta na cena, para susto das velhas
classes mdias, com seu incontido apetite pelo poder a todo o
custo e estonteante bal para nele manter-se.
27
Quem seno o
Estado lhe permitiria realizar tal tarefa propriamente burguesa?
Ele o capitalista coletivo atravs do qual esse estrato burgus
se afirma entre as potncias do capital como grande capital
propositalmente enfraquecido pelas privatizaes, esse o sentido
delas, alis subvertendo, assim, o jogo monopolista privado. O
Estado liquidado pelo golpe de 1964 possua forte presena na-
cionalista, em momento histrico que ameaava levar ao poder
crescentes maiorias populares anti-imperialistas e, assim, passar
construo de um capitalismo nacional crescentemente autno-
mo e soberano, popular e democrtico. Tal projeto, assim como
o socialismo chileno e outros arroubos nacionalistas populis-
tas, na vulgata pr-colonial foi devidamente liquidado pela lon-
ga marcha da contrarrevoluo capitalista, como bem notaram
Florestan Fernandes e muitos outros. Imps-se, nesta, a revolu-
o monopolista como obra mestra das ditaduras.
No entanto, este Estado das novas pequenas burguesias ur-
banas no poder e dos movimentos sociais sob sua tutela, o Es-
tado do PT e aliados, deseja afirmar a sua autonomia para os
negcios nacionais, para a mundializao do imperialismo brasi-
27
Recomenda-se o urgente reestudo da obra de Wright Mills.
300
A poeira dos mitos: revoluo e contrarrevoluo nos capitalismos da misria
leiro, benvolo e democrtico. Ou melhor, para a mundializao
solidria, pr-imperialista, capaz de inserir mundial e dinamica-
mente, com um mnimo de autonomia, esses negcios do capital
monopolista nativo. E at de modo ecologicamente sustentvel,
como quer uma parte desses negcios, apoiadores generosos da
candidatura de Marina Silva.
O neodesenvolvimentismo, projeto dessas foras, expressa
esse rumo ao Brasil potncia, imperialista, anticolonial e antibe-
licista; porm, de modo inabalvel, decidido a construir seu com-
plexo industrial-militar adequado sua condio de potncia
terrestre e, agora, mais ainda do que antes, atlntica, devido ao
pr-sal. Este se torna objeto a exigir soberania nas guas terri-
toriais brasileiras, como veementemente se expressou Jobim em
conferncia no Forte de Copacabana (BBC-Brasil, 3/11/2010)
28
.
Uma miscelnea complexa, sem dvida. Nada mais complexo,
porm, que o decorrer das revolues burguesas conservadoras.
o novo mito redentor
Atente-se para o mito da erradicao da misria, servido
expressamente como doao de certo valor para a minorao da
fome secular, que no vem acompanhado da promessa de univer-
salizao dos direitos republicanos ou da democracia como poder
crescente das maiorias politicamente emancipadas na Repblica .
Nem como expresso do controle sobre a reproduo social, seja
sobre o capital financeiro, os meios de comunicao, a cincia e a
tecnologia, a funo social da terra ou o meio ambiente. Enfim, o
anunciado fim da misria no vem acompanhado pela emancipa-
28
Leia-se o fundamental trabalho de Renato Dagnino, A indstria de defesa
no governo Lula. So Paulo, Expresso Popular, 2010. De longe o melhor
trabalho de crtica aos arroubos militaristas dos amantes do complexo in-
dustrial-militar.
301
Paulo Alves de Lima Filho | Rogrio Fernandes Macedo
o nacional e social, como se a misria fosse atributo exclusivo
das maiorias trabalhadoras, dos miserveis e no da sociedade
da misria, que a produz e reproduz desde os seus primrdios
como forma histrica do capital, colonial e escravista. Como se
a misria no fosse uma forma de produo miserabilizante da
riqueza.
Por fim, os dois projetos histricos imperialistas em disputa,
colonial e anticolonial, promovem guerra de vida ou morte para
ver quem, com mais zelo, carrega os despojos do pas herdado da
contrarrevoluo capitalista. A ltima flor do Lcio desabrocha
nos funerais das emancipaes. lcito e necessrio, contudo,
alertar para o fato de que a fase benvola do imperialismo nativo
pode um belo dia, sem aviso prvio, finar-se. Ento, aliar-se-ia o
horror misria irredenta e belicosa.
parte 3
desenhos e tipos de polticas pblicas para
a economia solidria
305
conceitos e ferramentas para anlise de poltica
pblica
Milena Pavan Serafim
Rafael de Brito Dias
introduo
Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns concei-
tos, teorias e ferramentas que nos auxiliaro na anlise das pol-
ticas pblicas. O foco deste trabalho no o debate dos enfoques
tericos, suficientemente abordado pelos autores da cincia po-
ltica, mas sim explicitar conceitos e ferramentas de anlise que
compem o referencial de Anlise de Poltica (Policy Analysis).
Este, entendido como a cincia do Estado em ao, ou mais preci-
samente, como uma metodologia de investigao social aplicada
anlise das atividades concretas das autoridades pblicas (Roth
Deubel, 2009).
A importncia deste referencial que ele nos permite com-
preender a conformao das polticas pblicas em geral (nacio-
nal, estadual ou municipal) e a complexidade que a ela intrnse-
ca. A Anlise de Poltica, ao focar no comportamento dos atores
sociais e no processo de formulao da agenda e da poltica, bus-
ca entender o porqu e para quem aquela poltica foi elaborada
e no s olhar o contedo da poltica pblica em si. Entretanto,
a Anlise de Poltica um ferramental que precisa de uma viso
306
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
terica por trs dela para ser um ferramental completo. Buscar
entender o porqu e para quem a partir de um referencial terico
marxista diferente de entender esses elementos a partir do refe-
rencial pluralista.
Nesse sentido, este trabalho est dividido em trs itens,
alm das consideraes finais. No primeiro item analisado o
debate e as vises tericas acerca do Estado. Analisar o Estado
tambm escolher a lupa para tal. Ou seja, de qual percepo de
Estado o analista parte? A importncia desse item para o traba-
lho est justamente no fato de que a Anlise de Poltica sozinha
apenas um conjunto de ferramentas e conceitos frgil. O segundo
item caracteriza as polticas pblicas enquanto fruto da confor-
mao do Estado e de suas disputas, assim como, as relaciona
com a percepo conferida ao prprio Estado. Ou seja, se o ana-
lista compreende que o Estado plural, ele tambm estende essa
compreenso s polticas pblicas. No terceiro item apresenta-
do o referencial de Anlise de Poltica, que busca possibilitar o
entendimento do processo de elaborao das polticas pblicas e
as suas caractersticas (quais instituies e atores sociais esto en-
volvidos, como ocorreu a identificao dos problemas que entra-
ram na agenda poltica, as coalizes existentes e seus interesses,
os mecanismos e interveno existentes etc.). E, por fim, encerra-
mos este trabalho com algumas consideraes finais.
algumas vises acerca do estado
O que o Estado? Esta questo tem sido, ao longo dos l-
timos trs sculos, um dos principais alvos de debate em campos
disciplinares diversos, como a Filosofia, a Cincia Poltica e, mais
recentemente, a Economia e a Administrao Pblica. E tambm
surge em diversos outros meios, muitas vezes de forma imprecisa.
Em especial nos pases da Amrica Latina, o Estado tem
sido entendido como a principal entidade responsvel por pro-
307
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
mover o desenvolvimento nacional, percepo esta gerada pelas
prprias experincias histricas dos pases da regio. O mito do
Estado forte ou do Estado desenvolvimentista ou, ainda,
do Estado-empresrio esteve (e ainda est) claramente pre-
sente no discurso e, mais sutilmente, na prtica dos fazedores de
poltica latino-americanos.
O problema do termo Estado forte est em sua impreci-
so: ele forte para quem? Por trs dessa ideia, aparentemente
ingnua, esconde-se uma concepo de Estado e um projeto pol-
tico pr-capital. Trata-se, na realidade, de uma viso fetichizada
do Estado.
Essa ideia remete ao conceito de fetiche da mercadoria.
A teoria marxista coloca que a forma com que a mercadoria
apresentada ao consumidor acaba por ocultar as relaes so-
ciais envolvidas em sua produo. Quando olhamos para um
automvel, podemos enxergar um meio de transporte, um sm-
bolo de status ou um bem suprfluo, de acordo com nossa vi-
so de mundo. Mas dificilmente conseguimos perceber que na
essncia daquela mercadoria h explorao, subordinao do
trabalho ao capital etc.
possvel sintetizar as interpretaes mais comuns acerca
dessa questo de duas formas principais. A primeira delas situa o
Estado no centro das relaes Estado-sociedade sendo, portanto,
Estadocntrica.
De acordo com essa concepo, o Estado teria um signifi-
cativo grau de autonomia em relao sociedade. As decises
seriam tomadas no mbito estatal, respeitando ou no as de-
mandas e necessidades sociais, e simplesmente repassadas para a
sociedade, por meio das polticas pblicas. sociedade caberia
apenas acatar essas medidas. Seria como se o aparelho estatal (ou
a mquina do Estado) fosse controlado por polticos e burocratas
que tomariam as decises de forma autnoma e as transfeririam
para a sociedade, que as aceitaria obedientemente.
308
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
Faz parte dessa viso os enfoques decisionistas e os enfo-
ques burocrticos/neoweberianos. No que se refere ao primeiro
enfoque, este composto pelos enfoques do modelo racional, do
modelo da racionalidade limitada, do modelo incremental e do
modelo garbage can ou modelo da causalidade.
Os enfoques do modelo racional e do modelo incremental
compem um debate entre duas correntes interpretativas acerca
do grau de objetividade e racionalidade com que deve ser efeti-
vado o processo decisrio da formulao de poltica, um tema
importante da Anlise de Poltica.
No caso do primeiro modelo, o racional, Simon (1957), ao
enfatizar a necessidade de eficcia administrativa, prope que o
fazedor de poltica, aps comparar os efeitos e atuao das alter-
nativas para o processo de tomada de deciso, opte pela melhor
alternativa. Esse modelo prope racionalidade nas decises e a
busca por eficcia nas estruturas institucionais.
O prprio autor reconhece a dificuldade em se tomar deci-
ses racionais frente s limitaes, como falta de conhecimento
sobre o objeto da deciso; influncia das organizaes (cultura
organizativa e poltica); valores e interesse de quem decide a po-
ltica
1
; elevado custo, tendo em vista, a necessidade de um alto
grau de conhecimento, informao e meios materiais e pessoais;
e condicionantes que derivam de polticas anteriores, que podem
pressionar em busca de um incrementalismo endmico.
Face a essas limitaes, Simon (1957) derivou do modelo
um outro, ao qual ele chamou de modelo de racionalidade li-
mitada. Este, com diversas limitaes, foi trabalhado por vrios
autores, como Forester (1989), que reconhece que os fazedores
de poltica optam por aquelas escolhas que melhor os satisfazem,
com base nas informaes limitadas das quais dispem.
1
Muitas vezes se refere melhor alternativa para quem decide e no para a
poltica pblica em si.
309
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
Lindblom (1991), no compartilhando do reconhecimen-
to do processo de deciso como um processo racional, prope
o modelo incremental. O autor tem como preocupao central
produzir uma anlise ampla sobre as caractersticas do processo
de tomada de deciso, que segundo ele mais complexa que a
abordagem racional. Na sua concepo, a democracia, o governo
e as polticas pblicas so vistos como um processo contnuo de
tomada de deciso
2
. Neste sentido, este modelo parte da situa-
o existente buscando alter-la incrementalmente (Dagnino et
al., 2002, p. 188). Principalmente, assegurando acordos dos dife-
rentes interesses polticos presentes.
O ltimo enfoque garbage can ou modelo da causalidade
se situa entre a viso proposta pelo modelo racional e aquela
proposta pelo modelo incremental. O modelo da causalidade ou
garbage can (anarquia organizada) foi proposto por March &
Olsen (1976). Tambm com uma postura contrria viso do
processo de tomada de deciso como algo racional, esses autores
consideram a causalidade como fator determinante para explicar
um processo decisrio. A deciso nasce do encontro fortuito e
da inter-relao entre problemas, objetivos, alternativas e atores
sociais. Este enfoque pode ser til para explicar a tomada de de-
ciso em situaes de complexidade, indefinio de problemas
e um importante nmero de atores e interesses no processo de
deciso.
O segundo grande enfoque o burocrtico ou neoweberia-
no que parte do entendimento de que as escolhas pblicas resul-
2
O incrementalismo busca revisar somente aquelas polticas que diferem das
polticas existentes; entende que a tomada de deciso pode ser constante-
mente redefinida, permitindo ajustar os fins e os meios; no existe uma
soluo ou deciso perfeita, e sim uma srie de tentativas e aproximaes
das questes; o modelo remediador, reparador, orientado a melhoria das
imperfeies sociais concretas do presente, mais que ao desenvolvimento de
metas sociais futuras.
310
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
tam dos conflitos e competio entre grupos e cls tecnocrticos
no seio do Estado. Ele demonstra, portanto, autonomia e rele-
vncia da burocracia.
Uma segunda forma de compreender as relaes entre Es-
tado e Sociedade aquela que coloca a viso sociocntrica. De
acordo com essa outra percepo, a mquina do Estado estaria
a servio da sociedade. Polticos e burocratas deveriam estar sem-
pre atentos s demandas e necessidades sociais, de modo a poder
responder rapidamente a elas. Essa viso entende o Estado como
varivel dependente da sociedade (minimizam a capacidade e o
impacto que as instituies pblicas tm sobre as polticas pbli-
cas). Os diferentes grupos (classes sociais) so determinantes na
escolha das polticas desenvolvidas pelo Estado.
O enfoques dessa viso so: marxista, pluralista, elitista e
escolha pblica. O enfoque marxista compreende que o Estado
resultado da disputa entre classes sociais. Ou seja, o Estado nada
mais que o reflexo dessas disputas. O enfoque pluralista re-
conhece a disperso do poder e o acesso livre e competitivo de
grupos de presso s esferas de deciso. Nesse sentido, uma po-
ltica pblica concebida como resultado da disputa entre gru-
pos (Dahl, 1961). O enfoque elitista, que entendido como uma
extenso do enfoque pluralista, aceita a existncia de elites. Ela
reconhece o poder exercido por grupos pequenos e organizados
e a habilidade dos mesmos em alcanar seus objetivos (Wright
Mills, 1956; Lasswell, 1936). E, por fim, o enfoque da escolha
pblica. Esta derivada da corrente neoliberal e reconhece a ne-
cessidade em estudar as falhas das instituies pblicas mediante
aplicao dos conceitos de individualismo metodolgico (ou o in-
divduo racional ou egosta) para explicar as escolhas polticas
e institucionais. Ela advoga que a burocracia responsvel pelo
crescimento do oramento e, por isso, precisam do estado mni-
mo (Duran, 1990). Os trs ltimos enfoques so ideologicamente
incompatveis com o primeiro.
311
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
H um terceira viso sobre a relao Estado-sociedade.
Esta conhecida como viso mista ou intermediria dessa rela-
o. Essa viso rechaa o racionalismo economicista ou social da
primeira viso e nega tambm em ver a sociedade como subme-
tida a um Estado que se encontra refm de uma minoria (Meny
e Thoenig, 1992).
Essa viso busca levar em considerao os fatores internos
(Estado) e externos (sociedade) e busca substituir as relaes cau-
sais unvocas para tratar de apreender a sociedade como um te-
cido de relaes interdependentes mais que de dependncia. H
uma certa resistncia em desenvolver teorias a priori.
Faz parte dessa viso dois grandes enfoques: o neocorpo-
rativista, o neoinstitucionalista e a Teoria das Redes. O primei-
ro enfoque se refere a um modelo de Estado corporativista que
consiste na existncia de relaes privilegiadas ou exclusivas en-
tre poucos grupos e o Estado. Esse enfoque surge da oposio
viso pluralista ao atribuir aos interesses organizados um papel
principal no processo poltico (Labra; 1999, p. 155).
Outro enfoque o do neoinstitucionalismo. Este considera
as instituies um fator essencial no desenvolvimento de compor-
tamentos individuais, ao coletiva ou as polticas pblicas. Ao
contrrio do institucionalismo clssico (foco no administrativo),
o neoinstitucionalismo tem o foco no papel das instituies (em
sua estrutura fsico-legal-organizacional; culturas, crenas; para-
digmas etc.) (March & Olson, 1984).
E, por fim, o enfoque da Teoria das Redes. Uma rede se
define geralmente como um conjunto de relaes de um tipo es-
pecfico (por exemplo, de colaborao, de apoio, de controle) en-
tre um conjunto de atores. Esse enfoque tende a considerar que
as fronteiras entre o estatal e o no estatal so movedias e que
existe uma srie de pontes entre elas.
As polticas pblicas so concebidas como o resultado de in-
ter-relaes e interdependncias entre vrias instituies, grupos
312
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
de interesses e indivduos que conformam uma rede de influn cia
mtua, em que as hierarquias reais nem sempre so as que for-
malmente se estabelecem.
Alguns conceitos trabalhados por esse enfoque so: Advo-
cacy Coalitions, Policy Arena e Policy Network.
O primeiro o que alguns autores denominam de advocacy
coalitions
3
. Este conceito tem sido empregado com sucesso na
Anlise de Poltica, ao analisar a atuao e a articulao de ato-
res participantes de um mesmo grupo que se unem para advo-
gar sobre uma mesma causa ou assunto diante do prprio grupo
(Jenkins-Smith & Sabatier, 1993; Roth Deubel, 2006).
Outra forma de articulao sobre o processo poltico
atravs da policy arena. Nela, as reaes e expectativas de or-
ganizaes afetadas por medidas polticas geram um efeito an-
tecipatrio na arena poltica que acaba influenciando o prprio
processo poltico e decisrio (Frey, 2000). McDaniel, Sims &
Miskel (2000) afirmam que existe uma forte correlao entre as
percepes dos fazedores de poltica e dos grupos de interesse
a cargo das organizaes de qualquer espcie. Ou seja, nota-se
uma forte influncia dos grupos de interesse e de presso sobre
os fazedores de poltica.
Por fim, a terceira forma que afeta a construo da poltica
a interao entre diferentes instituies e atores que conformam
coalizes e redes polticas em torno de questes especficas, de
forma a pressionar e atuar na gnese e na implementao de uma
determinada poltica. Essa forma de articulao entre os atores
denominada policy networks (Frey, 2000).
Essas vises, naturalmente, carregam uma srie de pro-
blemas. Ao conferir uma posio central nas relaes Estado-
sociedade a um desses atores (ao Estado, no caso da primeira
concepo, e sociedade, no caso da segunda), produzem uma
3
Advocacy coalitions se refere a grupos sociais de presso.
313
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
interpretao apenas parcial e, portanto, incompleta dessas
relaes. Mas tambm acreditar que uma anlise pode ser reali-
zada sem elementos a priori acreditar em uma falsa neutralida-
de do analista.
De fato, o Estado no tem plena autonomia em relao
sociedade. As aes estatais (e as prprias caractersticas do Es-
tado) so produtos de processos sociais. Da mesma forma, tam-
pouco so completamente dependentes da sociedade.
As relaes que imprimem o padro da interao entre Es-
tado e sociedade so muito mais complexas do que essas concep-
es usualmente colocam. So dinmicas, pois esto sempre em
transformao, de acordo com os processos mais amplos de cada
momento histrico. Dependem das particularidades de cada pas
ou regio, podendo assumir diversas formas especficas. Desdo-
bram-se, por fim, atravessando as relaes entre as esferas fede-
rativas (federal, estadual e municipal) e entre os canais da relao
Estado-sociedade (funcional, material e poltico).
Assim, no adequado entender o Estado como uma
mquina alheia sociedade. Ele , ao mesmo tempo, produto e
catalisador das relaes sociais. Ele a materializao das con-
tradies e das tenses presentes na sociedade. Dessa maneira,
a complexidade dessas relaes no pode ser expressa de forma
unidirecional e linear, como propem as duas primeiras vises
apresentadas acima.
A forma especfica assumida pelo Estado capitalista e as
relaes que estabelece com a sociedade so to complexas e im-
bricadas quanto os fios de uma teia de aranha. Essa complexida-
de se manifesta de formas particulares, dependendo do contexto
histrico. Para o autor, a essncia do Estado no muda: suas ca-
ractersticas constitutivas so as mesmas desde o momento de sua
formao. O Estado capitalista, formado a partir da Revoluo
Industrial, capitalista e ponto: atua sempre no sentido de bali-
zar os conflitos entre capital e trabalho e tende, invariavelmente,
314
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
a beneficiar o primeiro em detrimento do segundo. Nas palavras
do prprio Oszlak (1997),
as regras fundantes em que se baseiam os vnculos entre o Estado
e a sociedade no tm variado, porque so as mesmas em que se
funda o sistema capitalista como modo de organizao social; o
que provavelmente tem mudado so alguns dos atores, suas estra-
tgias e os resultados do jogo em si.
Assim, importante colocar que, embora as mudanas no
Estado inegavelmente acomodem as novas exigncias do capital,
elas no alteram a essncia do Estado. O que de fato muda a
agenda do Estado.
A agenda pode ser entendida como o espao problemtico
de uma sociedade. Um determinado tema incorporado agen-
da quando identificado como problema passvel de se converter
em poltica pblica. Esse processo no deve ser entendido como
estritamente tcnico: a identificao do problema e a construo
da agenda envolvem valores e interesses, esto condicionadas a
elementos ideolgicos e a projetos polticos e refletem as relaes
de poder entre os atores sociais envolvidos. As polticas pblicas,
por sua vez, seriam posicionamentos possveis em relao a essa
agenda, dadas as possibilidades tericas, polticas e materiais
apresentadas aos atores que participam do jogo poltico.
Segundo Oszlak (1997), a configurao particular (ou a
identidade) assumida pelo Estado em cada momento histrico
depende da direo que conferida agenda. Na histria repu-
blicana da Amrica Latina, as agendas foram constitudas por
questes fundamentais como ordem e progresso, no final do
sculo XIX; segurana e desenvolvimento; estabilidade e cres-
cimento; governabilidade e produtividade; ajuste e revoluo
produtiva; e, mais recentemente, questo social.
As particularidades da atual forma assumida pelos Estados
latino-americanos decorre de processos colocados no decorrer de
315
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
sua trajetria. O Estado aquilo que se faz, afirma Oszlak
(1997). Ou seja, o Estado que temos hoje produto da sobreposi-
o das numerosas agendas que foram sendo construdas , nego-
ciadas, modificadas ou mesmo descartadas ao longo da histria
(em relao a esse ltimo ponto, poderamos afirmar, simetrica-
mente, que o Estado tambm aquilo que no se faz).
as polticas pblicas no mbito do estado capitalista
A forma com que se entende uma poltica pblica est dire-
tamente relacionada com a percepo que se tem do Estado. Fre-
quentemente, compreende-se a poltica pblica como uma ao
ou conjunto de aes por meio das quais o Estado interfere na
realidade, geralmente com o objetivo de atacar algum problema.
Essa definio se mostra um tanto quanto simplista, uma vez que
trata o Estado como um ator que opera de forma autnoma e be-
neficia a sociedade como um todo atravs de suas aes.
Em um expressivo esforo de sistematizao e detalhamen-
to de conceitos referentes ao Estado e a polticas pblicas, Souza
(2006) resgata as contribuies dos principais autores que se de-
dicaram ao estudo desses temas. Para a autora,
No existe uma nica, nem melhor, definio sobre o que seja
poltica pblica. Mead (1995) a define como um campo dentro
do estudo da poltica que analisa o governo luz de grandes
questes pblicas e Lynn (1980), como um conjunto de aes do
governo que iro produzir efeitos especficos. Peters (1986) se-
gue o mesmo veio: poltica pblica a soma das atividades dos
governos, que agem diretamente ou atravs de delegao, e que
influenciam a vida dos cidados. Dye (1984) sintetiza a definio
de poltica pblica como o que o governo escolhe fazer ou no
fazer. A definio mais conhecida continua sendo a de Laswell,
ou seja, decises e anlises sobre poltica pblica implicam res-
ponder s seguintes questes: quem ganha o qu, por qu e que
diferena faz. (p. 24).
316
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
justamente nas contribuies de Dye e de Laswell que nos
apoiamos em nossa argumentao. De fato, a definio proposta
por Dye (1984) a torna particularmente aderente ao que se ob-
serva na realidade. Polticas pblicas no devem ser entendidas
apenas como o que o Estado faz (sua dimenso mais facilmente
percebida), mas tambm como aquilo que ele deixa de fazer. Suas
aes ou inaes refletiriam os comportamentos dos atores
que nele atuam.
A definio proposta por Laswell (1958) particularmente
interessante, pois gera uma reflexo acerca de questes absolu-
tamente pertinentes em relao s polticas pblicas. Sendo essas
geradas no mbito do Estado capitalista, as respostas a essas per-
guntas e em particular para parte da primeira (quem ganha)
bem poderiam apontar para a classe dominante.
Afinal, o Estado capitalista , simultaneamente, um produ-
to da estrutura de classes das sociedades capitalistas e a entidade
que garante a preservao dessa estrutura (ODonnell, 1981). No
mbito do Estado esto inseridos atores que dispem de interes-
ses, valores, ideologias e projetos polticos distintos. O Estado
um ambiente de sistemtica disputa poltica. No deve, portanto,
ser compreendido como um ente independente da sociedade e
imune aos conflitos que nela se manifestam.
Ham & Hill (1993) oportunamente lembram que as anlises
dos processos polticos devem levar em conta que estes ocorrem
no mbito do Estado capitalista moderno (o que chega a ser re-
dundante, pois todo Estado capitalista tambm moderno). Ora,
se as caractersticas do contexto social influenciam os processos
polticos dentro e ao redor do Estado, e se este capitalista, evi-
dente que os conflitos entre classes sociais, tpicos das sociedades
capitalistas, tambm se manifestaro no mbito do Estado.
Essa noo no nova. Pelo contrrio: ela tem sido aborda-
da por diversos autores, cujas anlises englobam polticas pbli-
cas das mais diversas. Ela aparece, de forma implcita ou expl-
317
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
cita, em trabalhos de autores como Offe (1994), Sposati (1997),
Faleiros (2007), Brugu (2004) e Thwaites Rey (2008), para citar
apenas alguns.
Os partidrios da viso marxista entendem as polticas p-
blicas como instrumentos por meio dos quais a classe dominante
mantm a estrutura de dominao econmica e poltica da qual
se beneficia
4
. Nesse sentido, as polticas devem ser entendidas
como resultados de determinantes superestruturais associados ao
prprio sistema capitalista.
A relao entre Estado e polticas pblicas , portanto, di-
nmica. Autores como ODonnell (1981), partindo da abordagem
marxista, fornecem elementos para a compreenso dessa relao.
Se, inequivocamente, o Estado capitalista conforma um padro
particular de polticas pblicas, ele tambm por elas influen-
ciado. A sucesso de agendas de diferentes governos configura o
mapa do Estado. Nesse mesmo sentido, as polticas pblicas,
segundo Oszlak e ODonnell (1995), apresentariam um impor-
tante carter dual. Ao mesmo tempo em que geram processos
externos ao Estado, geram tambm processos internos a ele.
Ainda na viso de Oszlak e ODonnell (1995), possvel
afirmar que uma poltica estatal no constitui nem um ato nem
um reflexo de uma resposta isolada, mas sim um conjunto de
iniciativas e respostas que permitem inferir a posio do Estado
frente a uma determinada questo. Assim, as polticas estatais
podem ser classificadas como ns do processo social, na me-
dida em que refletem as diversas interaes (inclusive disputas)
entre os atores sociais.
De forma despretensiosa, podemos afirmar que as polticas
pblicas so o Estado em movimento. No so, evidentemente,
as nicas formas de ao estatal. Mas constituem, sem dvida,
4
Para saber mais sobre este debate, ver o artigo de Henrique Novaes nesta
coletnea.
318
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
aquela forma que melhor reflete a natureza do Estado capitalista.
No trivial, portanto, que tanta ateno tenha sido despendida
pelos analistas de polticas pblicas ao momento da definio
da agenda (Ham & Hill, 1993; Rochefort & Cobb, 1994; Roth
Deubel, 2006).
A agenda , justamente, o instrumento que reflete a priori-
zao de temas e problemas a serem trabalhados por um governo
(Roth Deubel, 2006). Precisamente devido a essa caracterstica,
a agenda o espao disputado entre os diversos atores que fazem
parte do jogo poltico. a particular arquitetura de poder exis-
tente em cada situao que ir determinar quais os temas que
devero compor a agenda e quais aqueles que no sero contem-
plados. E, como mostrou Lukes (1974) por meio da proposio
do conceito de conflitos latentes, isso nem sempre ocorre de
forma facilmente reconhecvel.
So esses conflitos, acima de tudo, que viabilizam a blinda-
gem da agenda por parte dos atores dominantes, no permitindo
que as demandas e os projetos dos demais sejam incorporados a
ela. Trata-se de um processo relativamente frequente nas polti-
cas pblicas.
Os elementos que apresentamos at aqui, embora no te-
nham de forma alguma sido debatidos com o grau de profundi-
dade que sua prpria complexidade demanda, nos auxiliar para
compreender o item a seguir.
sobre o referencial de anlise de poltica
As polticas pblicas tm, cada vez mais, se convertido em
objetos de anlise que tm atrado a ateno de diversos grupos,
dentre os quais gestores e pesquisadores que tm se debruado
sobre as diversas formas assumidas pela relao Estado-socieda-
de. Ao longo das ltimas dcadas, um nmero crescente de estu-
dos tem sido desenvolvido com base no referencial da Anlise de
319
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
Poltica. Trata-se de um campo de pesquisa relativamente conso-
lidado no exterior e, cada vez mais, no Brasil. por esse motivo
que aqui utilizamos o termo com letras maisculas.
Uma advertncia inicial se faz necessria, antes de iniciar-
mos o tratamento das principais caractersticas e contribuies
desse campo: os esforos de anlise de polticas pblicas no de-
vem ser confundidos com avaliaes de polticas pblicas. A
anlise envolve um conjunto de procedimentos significativamen-
te mais complexos e exige um posicionamento ideolgico claro
por parte do analista (algo que a avaliao evita explicitar, em-
bora no consiga eliminar).
A diferena semntica entre os termos anlise e ava-
liao muitas vezes faz com que os leigos mas tambm
pesquisadores dedicados ao estudo das polticas pblicas en-
tendam os dois conceitos como sinnimos. Isso explica o fato
de que muitos trabalhos recentes sejam identificados como uma
reflexo de anlise de polticas pblicas, quando so, na verda-
de, avaliaes.
Embora compartilhem o objeto central que exploram (a
poltica pblica), a avaliao e a anlise constituem exerccios
bastante diferentes. O avaliador, por um lado, se ocupa funda-
mentalmente da apreciao dos resultados da poltica (ou ainda
aes, programas e projetos), atentando para categorias como
eficincia, eficcia e efetividade, derivados da comparao entre
metas e resultados (Cavalcanti, 2005).
O analista, por sua vez, atenta para elementos de natureza
muito mais sutil. Sua preocupao central com o processo de
construo da poltica pblica, em especial no que se refere de-
finio da agenda. A Anlise de Poltica enfatiza aspectos como
os valores e os interesses dos atores que participam do jogo po-
ltico, a interao entre eles, a arquitetura de poder e tomada de
decises, conflitos e negociaes etc. Assim, enquanto a avalia-
o prope uma leitura ex-post da poltica pblica, a Anlise de
320
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
Poltica refora a importncia da apreciao dos processos que,
em ltima instncia, determinam as caractersticas gerais da po-
ltica (Dagnino e Dias, 2008).
Outra diferena significativa entre a avaliao e a Anlise
de Poltica remete ao fato de esta ltima, ao contrrio da primei-
ra, incorporar em sua leitura uma reflexo sobre as razes pelas
quais a poltica pblica no apresenta caractersticas diferentes
(por exemplo, os motivos que levam as demandas de determi-
nados atores a serem excludas da agenda). Embora essa dimen-
so seja em parte especulativa, ela envolve uma reflexo que no
pode ser desprezada, at mesmo porque constitui um importante
exerccio que pode levar ao aprimoramento da poltica pblica.
Alguns fatores, como interesses e valores individuais, re-
gras e procedimentos organizacionais, caractersticas do ambien-
te socioeco nmico no qual operam as instituies polticas e a
tendncia de formao de subsistemas de poltica relativamente
autnomos so usualmente enfatizados por cientistas polticos
para entender os processos associados poltica pblica.
O reconhecimento de que valores e interesses dos atores en-
volvidos com a elaborao da poltica pblica (em particular com
o momento da conformao da agenda) constituem elementos es-
senciais desse processo uma das premissas bsicas dos estudos
de Anlise de Poltica e, portanto, so foco de particular ateno
dos trabalhos desenvolvidos no mbito desse campo. Esses aspec-
tos so destacados em trabalhos de diversos autores como, por
exemplo, de Ham e Hill (1993) e de Vianna (1996).
A Anlise de Poltica representa um campo disciplinar rela-
tivamente novo, como afirmamos anteriormente. A importncia
crescente que esse campo vem adquirindo pode ser verificada,
por exemplo, atravs do crescente nmero de programas de ins-
tituies de ensino superior que tm sido direcionados para a
anlise de polticas nos EUA (Hird, 2005). Pode, tambm, ser
inferida a partir da observao do aumento do nmero de tra-
321
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
balhos acadmicos sobre o tema, os quais Parsons (2007) afirma
poderem ser organizados ao redor de dois grandes eixos:
Anlise do processo das polticas pblicas, que busca
a compreenso de como se definem os problemas e as
agendas, como se formulam as polticas pblicas, como
se tomam as decises e como se avaliam e implementam
as polticas pblicas; e
Anlise em e para o processo das polticas pblicas, que
abarca o emprego de tcnicas de anlise, pesquisa e pro-
posio na definio de problemas, na tomada de deci-
ses, na implementao e na avaliao.
Com efeito, o desenvolvimento do campo ocorre paralela-
mente ao processo de racionalizao do Estado e das polticas
pblicas (a partir da dcada de 1970). H, nesse sentido, um mo-
vimento de coevoluo entre a Anlise de Poltica e as polticas
propriamente ditas: ao mesmo tempo em que o objeto de estudo
as polticas pblicas se torna cada vez mais complexo, passa
tambm a ser cada vez mais influenciado pelas reflexes sobre
ele. Assim, a Anlise de Poltica refora algo que j vinha ocor-
rendo com a Cincia Poltica constituindo, como apresenta Heclo
(1972, p. 83) uma modernidade renovada.
Evidentemente, reconhecer as ltimas dcadas como o mo-
mento em que as pesquisas a respeito desses temas apresentaram um
avano mais significativo no implica desconsiderar as contribuies
anteriores. Marx e Weber so exemplos de autores que contriburam
em grande medida para as reflexes acerca do Estado e das polticas
pblicas. Contudo, o fizeram em um momento em que essas refle-
xes eram ainda incipientes e esparsas. Apenas mais recentemente
esses objetos tm se tornado elementos de anlises frequentes por
parte de pesquisadores e policy makers (fazedores de poltica).
As reflexes engendradas no mbito do campo da Cincia Po-
ltica, sobretudo aquelas que foram assumindo uma abordagem
322
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
de manual (textbook approach), de acordo com Jenkins-Smith e
Sabatier (1993), mostraram-se insuficientes para a compreenso
de toda a complexidade dos processos atrelados s polticas pbli-
cas. A abordagem da Anlise de Poltica se mostra, na opinio dos
autores, muito mais promissora que as leituras tradicionais.
Uma definio bastante plausvel para a Anlise de Poltica
aquela proposta por Dye (1976), um dos trabalhos fundamen-
tais do campo. De acordo com a viso do autor, a Anlise de
Poltica seria um conjunto de estudos que teriam como principal
preocu pao entender o que os governos fazem, porque fazem e
que diferena isso faz. Talvez a principal contribuio dos estu-
dos desenvolvidos no mbito do campo da Anlise de Poltica,
contudo, seja ainda uma outra: a compreenso de como os go-
vernos fazem ou, em outras palavras, como se desdobram os
processos polticos que conformam as polticas pblicas e, por
extenso, o prprio Estado. Assim, a Anlise de Poltica constitui,
simultaneamente , um enfoque da poltica e para a poltica
(Gordon, Lewis e Young, 1977).
A Anlise de Poltica pode ser entendida como um conjun-
to de observaes de carter descritivo, explicativo e normativo
acerca das polticas pblicas que correspondem, respectivamente,
s perguntas a respeito de o que/como ?, por que assim? e
como deveria ser?. Essa ltima dimenso dos estudos de An-
lise de Poltica imprime aos estudos pertencentes ao campo um
carter bastante peculiar, no qual o dever ser assume uma im-
portncia fundamental. Essa caracterstica constitui uma dife-
renciao ainda mais relevante em um contexto no qual s refle-
xes tericas imposta uma assepsia ideolgica.
possvel estabelecer uma relao entre o campo da An-
lise de Poltica e os estudos marxistas. Embora os conceitos cen-
trais empregados nessas duas abordagens atores sociais e clas-
ses sociais sejam aparentemente incompatveis, possvel, de
fato, estabelecer um ponto de convergncia entre eles. Na teoria
323
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
marxista, o conceito de classe social remete, fundamentalmente,
posse (ou no) dos meios de produo. Na Anlise de Poltica,
por outro lado, um ator social definido por sua posio em
relao a uma situao ou problema. Assim, a classe dominante
pode, em alguns casos, ser considerada como um ator social.
De qualquer forma, a Anlise de Poltica um ferramental
que precisa de uma viso terica por trs dela para ser um ferra-
mental completo. Buscar entender o porqu e para quem a partir
de um referencial terico marxista diferente de entender esses
elementos a partir do referencial pluralista. Nesse sentido, enten-
demos a necessidade de complementao terica ao referencial de
Anlise de Poltica.
De acordo com Lasswell (1970), a Anlise de Poltica j
nascia com algumas das caractersticas que lhe iriam conferir o
formato que apresenta atualmente. Tratava-se, segundo o autor,
de um campo de forte carter contextual (preocupado com as
especificidades de cada contexto), multidisciplinar e multimet-
dico e orientado por problemas. Wildavsky (1979) complementa
essa leitura, afirmando que a Anlise de Poltica representa um
campo cujas fronteiras (internas e externas) de investigao no
obedecem a limites rgidos, sendo estabelecidas de acordo com a
natureza do problema a ser analisado.
Gradualmente, afirma Parsons (2007), a evoluo dos estu-
dos de Anlise de Poltica e a possibilidade da utilizao de seus
resultados no aprimoramento de polticas pblicas contribuiu
para a aproximao da cultura acadmica e da administrao
pblica. Isso contribuiu para que, sobretudo a partir da segunda
metade da dcada de 1970, o campo da Anlise de Poltica se
institucionalizasse e se desenvolvesse, tornando-se reconhecido
tanto por pesquisadores quanto por policy makers.
Mas a expanso desse campo disciplinar no foi o nico
reflexo da aproximao dessas duas culturas. Outros desdobra-
mentos importantes puderam ser observados no prprio processo
324
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
de elaborao de polticas pblicas, uma vez que os resultados
dos estudos conduzidos pelos autores do campo foram, pouco a
pouco, alterando conceitos e percepes dos policy makers acer-
ca de suas aes. Em especial, o contato entre essas duas culturas
gerou um dos traos mais caractersticos da Anlise de Poltica: o
reconhecimento de que tanto policy makers quanto acadmicos,
ao trabalhar com polticas pblicas, devem abandonar o papel de
tcnicos ou cientistas neutros e adotar o papel de advogados com
o objetivo de aprimor-las.
Com o intuito de facilitar o entendimento sobre o processo
de elaborao da poltica pblica, o instrumental de Anlise de
Poltica diferencia trs dimenses da palavra poltica. Uma di-
menso a polity, que se refere s instituies polticas e ao sis-
tema poltico. Outra dimenso a processual, o processo polti-
co, denominado de politics. E a terceira dimenso a material,
a policy, que se refere s polticas pblicas em si. Usamos esses
conceitos em ingls, pois somente esse idioma nos possibilita essa
diferenciao terica de aspectos peculiares. Apesar dessa dife-
renciao ser interessante e proveitosa, essas dimenses so en-
trelaadas e se influenciam mutuamente (Frey, 2000, p. 217).
Continuando na definio dos conceitos, a materializao
de uma poltica pblica passa por alguns momentos de matura-
o. A modelizao do processo de elaborao de uma poltica
denominada de ciclo da poltica (policy cycle).
Uma extensa bibliografia (Jones, 1970; Meny, e Thoenig,
1992; Dye, 1992; Frey, 2000), com a qual compartilhamos esse
entendimento, divide o ciclo em cinco momentos sucessivos, inter-
ligados e dinmicos: 1. identificao de problemas; 2. conforma-
o da agenda; 3. formulao; 4. implementao; 5. avaliao da
poltica. Nossa anlise est centrada prioritariamente nos trs pri-
meiros momentos, porque compreendemos que so estes os mo-
mentos que configuram a racionalidade de uma poltica pblica.
325
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
O primeiro momento do processo de elaborao da pol-
tica se refere identificao de um problema pelos atores que o
reconhecem. Este reconhecimento procede de forma subjetiva e
interessada por esses atores, ou seja, ele resulta do entendimento,
dos valores, das ideias e mtodos desses atores.
O entendimento sobre a subjetividade da definio do pro-
blema ganhou corpo com o desenvolvimento da Anlise de Pol-
tica, pois at ento esse elemento era considerado uma entidade
objetiva e sequer era reconhecido como uma fase do ciclo da pol-
tica. Esse no reconhecimento era mascarado pela racionalidade
do processo de tomada de deciso.
Dery (1984) trabalha com quatro definies de problemas,
que so: 1. Problema como situao o problema definido
como uma simples situao no desejvel ou um simples estado
de dificuldade observado. Essa definio no observa as diferen-
as de concepes de problema social (a diferena de concepes
entre neoliberais e social-democratas, por exemplo); 2. Problema
como discrepncia o problema definido como a discrepncia
entre o que e o que deveria ser. Essa definio pressupe que
todos tenham um conhecimento prvio e a mesma concepo do
que deveria ser e das solues, para se alcanar o ideal; 3. Proble-
ma como discrepncia solucionvel esta definio oferece uma
soluo intermediria entre as duas posies acima, entre aquilo
que aquilo que deveria ser. Essa definio compreende que a
soluo de um problema melhoraria a situao inicial, mas no
levaria ainda a uma situao ideal; 4. Problema como oportuni-
dade esta concepo entende que os problemas so subjetivos e
no so fceis de ser identificados, sendo necessria uma constru-
o analtica em cima deles.
Nesse sentido, Perz & Seisdedos (2006) modeliza, por
meio de um esquema de trabalho, as etapas de reconhecimento
de um problema, que so:
326
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
Etapa A reconhecimento/identificao de um proble-
ma. Esta etapa se caracteriza pela identificao do pro-
blema, pela necessidade em atuar sobre ele e pela vonta-
de poltica em atuar no problema;
Etapa B definio propriamente dita do problema.
Esta etapa se prope levantar o conjunto de fatores que
afetam o problema. Para isso, utiliza-se de levantamen-
to de informaes e dados sobre o problema (pesquisas
cientficas ou de opinio, banco de dados etc.);
Etapa C classificao do problema. Uma vez determi-
nado os fatores do problema, se estabelece um conjunto
de solues para cada uma das definies alternativas
dadas ao problema;
Etapa D avaliao do problema. Nesta etapa, as con-
sequncias da escolha de um problema e de seu corres-
pondente leque de solues so avaliadas, para que seja
determinada aquela mais conveniente. Tal avaliao
analisa custo-benefcio, nveis de conflitos e oportuni-
dades reais de melhoria etc.
Aliado a isso, esses autores apresentam cinco mecanismos
que conjuntamente com essas etapas identificaro um problema:
o primeiro se d por meio de busca e anlise permanente de in-
formao estratgica e seletiva; o segundo mecanismo prev par-
ticipao em redes de gesto, a fim de facilitar o intercmbio de
informaes, de recursos e de impactos de medidas j aplicadas,
possibilitando identificar problemas que j afetam outros proble-
mas; o terceiro est ligado aos rgos especializados em detectar
problemas, ou seja, se refere aos grupos de trabalhos, s oficinas
de informao ao pblico, s unidades que recebem reclamaes/
ouvidorias etc.; o quarto mecanismo diz respeito s pesquisas de
opinio, que levantam as expectativas e demandas dos usurios
das polticas pblicas; o quinto mecanismo, por fim, se refere
327
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
avaliao das polticas e programas em funcionamento. Este
ltimo mecanismo semelhante ao ltimo momento do ciclo da
poltica pblica, a avaliao. A avaliao nos proporciona infor-
mao para orientar os processos de deciso sobre uma poltica,
detectando os problemas de eficcia, de eficincia ou de gesto
de um programa.
A deciso sobre o reconhecimento de um problema e a sua
incorporao na agenda est ligada ou vulnervel a uma srie de
fatores externos e internos, sejam eles incentivadores ou no. Os
fatores externos que influenciam na determinao da agenda go-
vernamental so: 1. crises ou escndalos; 2. emotividade e impacto
emocional (a questo da fome de crianas); 3. magnitude da popu-
lao afetada; 4. presso dos grupos de interesse; 5. meios de co-
municao; 6. momento do ciclo poltico (teoria da policy window
do Kingdow, situaes em que a arena poltica se encontra mais
aberta e favorvel); 7. tradio e cultura (valores de uma socieda-
de) (Perz & Seisdedos, 2006). Quanto aos fatores internos, Viana
(1996) ressalta as caractersticas dos rgos, das instituies e dos
aparelhos vinculados produo de polticas pblicas etc.
No obstante, apesar de Dery (1984) e de Perz & Seisdedos
(2006) criarem tipologias de identificao de problemas ou me-
canismos para tal, entendem que tanto a escolha desses mecanis-
mos quanto a escolha dos problemas esto fortemente relaciona-
das ao modelo cognitivo dos atores sociais que atuam no cenrio
poltico, bem como ao seu poder poltico e s articulaes que
constroem.
Vale ressaltar que a delimitao entre o trmino da identi-
ficao de problemas e o incio da conformao da agenda serve
apenas para fins didticos e de compreenso, pois estes dois mo-
mentos so interdependentes.
Aps o reconhecimento desses problemas, que pode ser in-
dividual (quando o ator forte e o legitima) ou coletivo, inicia-se
o segundo momento. Este se refere ao ato de incorporar esse pro-
328
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
blema declarado pblico na agenda de governo e passar a dar-lhe
maior ateno como um assunto que possivelmente virar uma
poltica pblica. A agenda refletir a priorizao de problemas e
assuntos a serem trabalhados num governo.
Os atores (de modo geral), segundo Perz & Seisdedos
(2006) que intervm no processo de conformao da agenda so
vrios, mas podemos classific-los em dois grandes grupos: os
atores e os pblicos. Os atores so aqueles que participam da
conformao da agenda, conforme a sua relao com o proble-
ma. Os principais atores so: o legislativo; o governo; a adminis-
trao pblica; os grupos de interesses; os partidos polticos e os
grupos de especialistas (tcnico ou especialista na rea discutida,
comunidade de pesquisa etc.). O pblico, por sua vez, composto
por espectadores e beneficirios-fins da poltica pblica, ou seja,
os cidados.
A forma com que os atores sociais so apresentados por
esses autores parece ser muito simplista, ingnua e ignorante da
estrutura das relaes de poder entre grupos polticos distintos;
todavia, ela serve apenas para clarear ao leitor os principais ato-
res participantes (ou que deveria participar) de um processo deci-
srio. Quando o peso de um desses grupos (ator ou pblico) for
forte o suficiente para influenciar a agenda de governo, ele ser
compreendido como um agenda setter (formador da agenda). So
eles, atravs do seu modelo cognitivo e da influncia de outros fa-
tores, que determinam a conformao da agenda governamental.
De acordo com Kingdon (1984), a agenda o espao de
constituio da lista de problemas ou assuntos que chamam a
ateno do governo e dos cidados. importante ressaltar que,
apesar disso, a passagem de um problema para a agenda no ,
por si s, um requisito para que finalmente se elabore uma pol-
tica pblica para solucion-lo.
no processo de conformao da agenda que se verifica
com maior frequncia os fenmenos trabalhados por Bachrach &
329
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
Baratz (1962) e, posteriormente, por Lukes (1974), referentes s
diferentes faces do poder. De acordo com esses autores, os con-
flitos referentes a qualquer processo de tomada de deciso esto
sujeitos influncia daqueles que detm poder sobre ela e que
buscam criar ou reforar valores sociais e polticos e prticas ins-
titucionais. No caso, buscam continuar legitimando seu modelo
cognitivo como o modelo da poltica. Assim, a transformao do
modelo cognitivo de um ator no da poltica ir depender da rela-
o de poder e dos conflitos que dela decorrem.
Bachrach & Baratz (1962) afirmam que existem duas faces
associadas ao exerccio do poder. A primeira delas a explcita,
referente aos conflitos abertos envolvidos no processo de tomada
de deciso. A segunda a encoberta, atravs da qual grupos po-
lticos articulam para suprimir os conflitos e impedir sua chega-
da agenda, criando uma situao de no-tomada de deciso
(non decision-making
5
).
Lukes (1974) complementa essa anlise, argumentando que
haveria, ainda, uma terceira face do poder, referente aos confli-
tos que denominou de latente. Nessa situao, de natureza bem
mais sutil que as outras duas, o exerccio de poder se d confor-
mando as preferncias da populao, de maneira a prevenir que
nem conflitos abertos nem encobertos venham a se manifestar
(Dagnino et al., 2002). Esse tipo particular de conflito ocorre
quando as opinies ou preferncias da sociedade so manipula-
das, prevenindo, assim, o surgimento de eventuais conflitos no
futuro. Devido a sua prpria natureza, a existncia de tais confli-
tos no pode, por definio, ser comprovada.
Retomando o foco da discusso, importante destacar a
classificao feita por Kingdon (1984) acerca dos trs tipos de
agenda: sistmica (ou no-governamental), governamental e de-
5
Lukes (1974) denomina as duas primeiras faces de aberta e encoberta,
respectivamente.
330
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
cisria. A primeira composta por uma lista de assuntos que so
de preocupao nacional h algum tempo, mas que ainda no
receberam a devida ateno do governo. A governamental com-
posta por assuntos identificados pelo governo como importantes.
A ltima das trs a decisria composta por assuntos prio-
rizados na agenda governamental a fim de serem efetivamente
implementados.
Essas classificaes das agendas servem apenas para diferen-
ciar entre a inteno ou necessidade de se fazer algo e a tomada
de deciso propriamente dita. De acordo com Perz & Seisdedos
(2006), geralmente os problemas que compem a agenda gover-
namental so provenientes da agenda sistmica.
O modo como ocorre a conformao da agenda nos mos-
trar o grau de democracia, se assim podemos dizer, numa de-
terminada sociedade. De forma estilizada, podemos afirmar
que, em regimes democrtico-participativos, o acesso ao governo
aberto a todos os setores. J em regimes autoritrios, somente
as demandas colocadas pelos grupos que de fato detm o poder
poltico passam a fazer parte da agenda.
Uma questo fundamental para anlise : por que alguns
assuntos ou problemas, bem como alternativas, so selecionados
para deliberao governamental e outros no? A resposta diz res-
peito principalmente s escolhas dos agenda setters e dos grupos
de presso (advocay coalitions, policy arena e a policy networks)
participantes da construo da agenda. A conformao da agen-
da se d com base no entendimento, nos interesses, nos valores,
na viso de mundo desses atores sociais.
Apesar de reconhecermos que os dois momentos anterior-
mente descritos (identificao de problemas e conformao da
agenda) so fundamentais na definio da racionalidade da po-
ltica, entendemos que no momento da formulao da poltica
pblica que ela se materializa. Isso porque o fato de um problema
entrar na agenda de governo no requisito para que se elabore
331
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
uma poltica pblica para solucion-lo. apenas quando ocorre
a formulao que isso de fato acontece.
Quando um governo reconhece a existncia de um problema
e a necessidade de fazer algo sobre ele, os fazedores de poltica
precisam decidir ou no (o que configuraria uma situao de no
tomada de deciso
6
) sobre um curso de ao. Para fazer isto, eles
exploram vrias opes disponveis para enfrentar o problema. Ou
seja, inicia-se o processo de formulao da poltica pblica
7
.
O momento da formulao a fase em que opes so con-
sideradas, aceitas ou rejeitadas. Para Aguilar (1993), este momen-
to tem incio na identificao do problema. Ou seja, de acordo
com essa concepo, a soluo partiria da prpria definio do
problema. A formulao dos objetivos e a busca das alternativas
para a soluo do problema j esto presentes na fase de identifi-
cao do prprio problema. No caso, ele compreende que quem
define quem decide.
Viana (1996, p.13) desmembra o momento de formulao
em trs subfases:
primeira, quando uma massa de dados transforma-se em infor-
maes relevantes; segunda, quando valores, ideais, princpios e
ideologias se combinam com informaes factuais para produzir
conhecimento sobre ao orientada; e ltima, quando o conheci-
mento emprico e normativo transformado em aes pblicas.
Mondragn (2006) identifica dois momentos relativos ao
processo de formulao da poltica. O primeiro o processo de-
cisrio, no qual os atores polticos
8
, com base em variveis diver-
6
Ver mais em Lukes (1974); Ham &Hill (1992).
7
Ver mais em Hoppe, Graaf & Dijk (1985), Anderson (1975) e Hofferbert (1974).
8
Neste momento, utilizamos a denominao de atores polticos para dife-
renciar de atores sociais, algo mais amplo. No momento da formulao,
compreendemos que na sua maioria a tomada de deciso se d pelos atores
polticos, participantes do processo poltico.
332
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
sas (valores polticos, de organizao, pessoais, governamentais
e ideolgicos; projeo de resultados; recursos envolvidos; nveis
de conflito; carter objetivo ou subjetivo da poltica; intensidade
de capital ou recursos humanos necessrios efetividade da po-
ltica; dotao oramentria
9
etc.) influenciam consideravelmen-
te a escolha das alternativas e o esqueleto da poltica pblica.
O segundo o processo formal, em que a deciso do primeiro
momento se configura em poltica pblica por meio de medidas
administrativas necessrias para sua existncia. Os espaos que
legitimam e formalizam essas decises so: legislativo (leis); exe-
cutivo (decretos, medidas provisrias e resolues); e judicirio
(interpretam leis e etc.).
Depois de formulada, inicia-se o momento da implemen-
tao da poltica, mediante os rgos e seus mecanismos. Este
momento, segundo Viana (1996, p. 13), se d em um espao
administrativo, concebido como um processo racionalizado de
procedimentos e rotinas. Dependendo do grau de detalhamento
na formulao da poltica, haver a existncia de uma discricio-
nariedade por parte dos implementadores, para adequar a polti-
ca realidade. Nesse sentido, entendemos que, at esse momento,
deve-se considerar que a poltica ainda est sendo formulada.
Meny & Thoenig (1992) entendem que a implementao
a fase de uma poltica pblica durante a qual se geram atos e efei-
tos a partir de um marco normativo de intenes, de textos ou de
discursos. o conjunto de aes que pretendem transformar as
intenes em resultados observveis.
O ltimo momento corresponde avaliao da poltica p-
blica. A avaliao pode ser usada apenas como um instrumento
9
Aps a formalizao da deciso, para esta virar um programa necessrio
haver dotao de recursos para implementar a poltica pblica. No pode-
mos nos esquecer que tambm h disputa entre rgos do governo pelos
recursos financeiros.
333
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
tcnico ou como uma ferramenta poltica e til na formulao da
poltica (Olmo, 2006). Apesar de apresentarmos a avaliao como
o ltimo momento do policy cycle, ela no necessariamente
ocorre aps a implementao da poltica (avaliao ex-post). Ela
pode ocorrer tambm no incio do ciclo (avaliao ex-ante ) ou ao
longo dele, de forma concomitante.
A avaliao se apresenta como um instrumento tcnico que
permite o desenvolvimento de processos para a reviso e medio
sistemtica do estado do problema. Os resultados dessa avaliao
podem ocasionar trs situaes: 1. auxiliar na melhoria da pol-
tica e assim na sua continuao; 2. finalizar a poltica existente;
e 3. desenvolver uma nova poltica.
Alm de instrumento tcnico, a avaliao tambm uma
ferramenta poltica. Os resultados dela so utilizados para me-
lhorar os programas e para prestar contas aos cidados, contri-
buindo assim para a confiana e para a legitimidade do sistema.
A escolha por parte desses autores em dividir o policy
cycle em cinco momentos em vez de trs se d pelo entendi-
mento de que uma poltica pblica nasce do reconhecimento
pelos atores sociais de que uma dada realidade um problema
social e da necessidade de uma interveno pblica (ou pol-
tica). Esse reconhecimento no um processo simples. Ele
fruto de um complexo processo de disputas, interesses e valores
entre atores sociais que se renem em grupos de presso, de in-
teresses ou redes polticas para advogar sobre um problema ou
uma questo especfica. Para verificar esse complexo processo
de disputas, conceitos como o de advocacy coalitions, policy
arena, policy networks, vem sendo empregado por autores da
Anlise de Poltica.
So esses os conceitos bsicos e fundamentais que um ana-
lista de poltica tem que compreender para a anlise e o desenvol-
vimento de qualquer reflexo em relao ao processo de elabora-
o da poltica pblica e do processo poltico.
334
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
consideraes finais
O referencial de Anlise de Poltica surgiu nos Estados
Unidos nas dcadas de 1960/1970, em funo do crescente in-
teresse dos fazedores de poltica (policy makers) e dos acad-
micos em explicar o processo de elaborao das polticas p-
blicas. Apesar desse referencial representar, segundo Heclo
(1972, p. 83), uma modernidade renovada. O fato que a
Anlise de Poltica surge como uma abordagem que fornece
novos elementos para a compreenso e tratamento de proble-
mas de governo.
Ao contrrio da Cincia Poltica, que est mais interessa-
da na relao Estado-sociedade, no sistema poltico-social que a
engloba e no processo poltico, e da Administrao Pblica, que
centra sua anlise nas organizaes e estruturas de governo, bus-
cando otimizar o seu desempenho, o campo da Anlise de Pol-
tica busca analisar o processo de elaborao da poltica pblica,
com foco no comportamento dos atores sociais envolvidos nesse
processo. Os autores de Anlise de Poltica partem do entendi-
mento de que o reconhecimento de valores e interesses dos atores
envolvidos com o processo de elaborao da poltica pblica so
elementos essenciais desse campo.
Este trabalho teve, portanto, como objetivo apresentar al-
guns conceitos e ferramentas que auxiliaro o analista de poltica
a reconhecer, a partir do comportamento dos atores, os valores e
interesses deles envolvidos com o processo de elaborao da po-
ltica pblica. Na maioria das vezes, o analista compreender es-
ses valores e interesses a partir da anlise da poltica pblica em
si. Ou seja, esses elementos estaro implcitos nos momentos do
ciclo da poltica. Ao compreender esses elementos, assim como
os atores envolvidos, o analista de poltica poder atuar sobre a
policy (poltica pblica), a partir da polity (instituies polticas),
fazendo politics (poltica).
335
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
referncias bibliogrficas
AGUILAR, L. F. Problemas Pblicos y Agenda de Gobierno. Antologias
de Polticas Pblicas. Ed. Porrua, Mxico, v. III, 1993.
BACHRACH, P. & BARATZ, M. Two faces of power. American Poli-
tical Science Review, 56, 1962.
BRUGU, Q. Modernizar la administracin desde la izquierda: buro-
cracia, nueva gestin pblica y administracin deliberativa. Re-
vista del CLAD Reforma y Democracia, n. 29, 2004.
CAVALCANTI, P. A. O conceito de avaliao de polticas, progra-
mas e projetos. In: PEREZ, J. R. R. & OUTROS (orgs.) Estudo,
pensamento e criao: planejamento educacional e avaliao na
escola. Campinas: FE/Unicamp, 2005.
DAGNINO, R. P. et al. Gesto estratgica da inovao: metodologias
para anlise e implementao. Taubat: Editora Cabral Univer-
sitria, 2002.
& DIAS, R. B. A poltica de C&T brasileira: trs alterna-
tivas de explicao e orientao. Revista Brasileira de Inovao,
n. 6, vol. 2, 2008.
DERY, D. Problem definition in policy analysis. Kansas: University
Press of Kansas, 1984.
DROR, Y. Public policy making re-examined. Oxford, U.K.: Transac-
tion Publishes, 1983.
DYE, T.R. Policy Analysis: what governments do, why they do it, and
what difference it makes. Tuscaloosa: University of Alabama
Press, 1976.
FALEIROS, V. P. O que a poltica social? So Paulo: Editora Brasil-
iense, 2007.
GORDON, I.; LEWIS, J. & YOUNG, K. Perspectives on Policy Analy-
sis. Public Administration Bulletin, n. 25, 1977.
FREY, K. Polticas Pblicas: Um debate conceitual e reflexes referen-
tes prtica da anlise de polticas pblicas no Brasil. Revista
Planejamento e Polticas Pblicas, n. 21, junho de 2000.
HAM, C. & HILL, M. The policy process in the modern capitalist
state. Londres, RU: Harvester Wheatsheaf, 1993.
HECLO, H. Review article: policy analysis. British Journal of Political
Science, n. 2, 1972.
HIRD, J. A. Power, knowledge and politics: policy analysis in the States.
Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2005.
336
Conceitos e ferramentas para anlise de poltica pblica
HOGWOOD, B.W. & GUNN, L. A. The Policy Orientation. Centre
for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, 1981.
. Policy Analysis for the Real World. Oxford University
Press, Oxford, 1984.
HOPPE, R; GRAAF, V. H; DIJK, V. A. Implementation as design
problem. Problem tractability, policy theory and feasibility test-
ing. Paris, 1985.
JENKINS-SMITH, H. C. & SABATIER, P. A. The study of public
policy processes. In: SABATIER, P. A. & JENKINS-SMITH, H.
C. (orgs.). Policy change and learning: an advocacy coalition ap-
proach. Boulder: Westview Press, 1993.
JONES, C. Introduction to the study of public policy. Belmont, CA:
Wadsworth, 1970.
KINGDON, J. Agendas, alternatives and public policies. Boston : Lit-
tle Brown Publishing, 1984.
LASWELL, H. D. Politics: Who Gets What, When, How. Cleveland ,
EUA: Meridian Books, 1958.
. The emerging conceptions of political science. Policy
Sciences, n. 1, 1970.
LINDBLOM, C. E. El proceso de elaboracin de Polticas Pblicas . Ed.
Ministerio para las Adminsitraciones Pblicas. Madrid, 1991.
LOWI, T. Four Systems of Policy, Politics and Choice. Public
Administration Review, vol. 32, 1972.
LUKES, S. Power: a radical view. Londres, RU: Macmillan, 1974.
LYNN, L. E. Designing Public Policy: A Casebook on the Role of
Policy Analysis. Santa Monica, EUA: Goodyear, 1980.
MARCH, J. G., OLSEN, J. P. Ambiguity and choice in organizations.
Bergen, 1976.
McDANIEL, J. E.; SIMS, C. H.; MISKEL, C. G. The National Reading
Policy Arena: Policy Actors and Perceived Influence. Politics of Edu-
cation Yearbook Hanne B. Mawhinhey and Catherine Lugg Edi-
tors, 2000. Disponvel em: http://www.nrrf.org/mich_report.htm
MEAD, L. M. Public Policy: Vision, Potential, Limits. Policy Currents,
1-4, 1995.
MENY, I. & THOENIG , J. C. Las polticas pblicas. Barcelona:
Ariel, 1992.
MONDRAGN, J. O processo de tomada de deciso pblica: da for-
mulao da deciso a destinao de recursos. In: SNCHEZ, M.
P. (org.). Anlisis de Polticas Pblicas. Granada: Ed. Universi-
dad de Granada, 2006.
337
Milena Pavan Serafim | Rafael de Brito Dias
OFFE, C. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1994.
ODONNELL, G. Anotaes para uma teoria do Estado. Revista de
Cultura e Poltica, n. 4, 1981.
OSZLAK, O. & ODONNELL, G. Estado y polticas estatales en Amrica
Latina: hacia una estrategia de investigacin. REDES Revista de
Estudios Sociales de la Ciencia, vol. 2, n. 4, 1995.
. Estado y sociedad: nuevas reglas de juego? Revista Re-
forma y Democracia, n. 9, 1997.
OLMO, M. T. M. A avaliao das polticas e programas pblicos. In:
SNCHEZ, M. P. (org.). Anlisis de Polticas Pblicas. Grana-
da: Ed. Universidad de Granada, 2006.
PARSONS, W. Polticas pblicas: una introduccin a la teora y la prcti-
ca del anlisis de polticas pblicas. Mxico, D.F.: Facultad Latino-
americana de Ciencias Sociales e Mio y Dvila Editores, 2007.
PREZ, N. O & SEISDEDOS, S. R. Definicin de problemas y diseo
de la agenda. In: SANCHZ, M. P. (org.) Anlisis de Polticas
Pblicas. Granada: Editora Universidad de Granada, 2006.
PETERS, B. G. American Public Policy. Chatham, EUA: Chatham
House, 1996.
ROCHEFORT, D. A. & COBB, R. W. (eds.) The politics of problem
definition: shaping the policy agenda. Lawrence, EUA: The Uni-
versity Press of Kansas, 1994.
ROTH DEUBEL, A. N. Polticas pblicas: formulacin, implementa-
cin y evaluacin. Bogot, Colmbia: Ediciones Aurora, 2006.
SMITH, B. L. R. American science policy since World War II. Wash-
ington, EUA: The Brookings Institution, 1990.
SIMON, H. A. Administrative behaviour. Glencoe: Free Press, 1945, 1
a
ed., New York: Macmillan, 1957.
SOUZA, C. Polticas pblicas: uma reviso da literatura. Sociologias,
Porto Alegre, ano 8, n. 16, 2006, p. 20-45.
SPOSATI, A. Mnimos sociais e seguridade social: uma revoluo da
conscincia da cidadania. Servio Social e Sociedade, n.55, 1997,
p. 9-33.
THWAITES REY, M. (2008) Qu Estado tras el experimento neolibe-
ral? Revista del CLAD Reforma y Democracia, n. 41, 1997.
VIANA, A. L. Abordagens metodolgicas em polticas pblicas. Revis-
ta de Administrao Pblica, vol. 30, n. 2, 1996.
WILDAVSKY, A. Speaking truth to power: the art and craft of policy
analysis. Boston: Little Brown, 1979.
338
339
Gesto social e Gesto pblica: interfaces,
delimitaes e uma proposta
1
Renato Dagnino
2
apresentao
Este trabalho pretende dialogar com interessados no tema
das interfaces e delimitaes numa perspectiva de formao de
profissionais capacitados, fundamentalmente, para, no mbito
do aparelho de Estado, trat-las de modo a coadjuvar o processo
de democratizao em curso no Pas.
Coerentemente com esse vis ideolgico e pedaggico, fo-
cado no Estado e na relao Estado-sociedade, ele tem por base
a maneira como fui percebendo nos ltimos anos as relaes que
guardam entre si a Gesto Social (GS) e a Gesto Pblica (GP).
E, em particular, pelas razes que vou apresentar, entre a Gesto
Governamental (GG) e a GS no mbito do que considero como
1
Este artigo foi publicado na Revista de Administrao Poltica (Rebap) da
UFBA, Salvador, vol. 3, n. 2, 2010.
2
Agradeo sem incriminar, pelas sugestes feitas a uma verso preliminar
deste texto, aos companheiros de trabalho do Programa de Gesto Estra-
tgica Pblica da Unicamp, o qual tenho a honra de coordenar, e tambm
aos colegas da Faculdade de Administrao da UFBA, onde tiveram lugar
muitas das experincias que a ele deram origem.
340
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
conjunto que as contm, a GP; o qual, desde logo, diferencio ca-
tegoricamente da Gesto Privada.
Teve uma importncia destacada nesses anos a experincia
que tive durante o perodo de 2007 a 2009, quando atuei como
pesquisador-visitante no Ciags-UFBA. Essa participao abran-
geu o oferecimento de disciplinas nos cursos de ps-graduao em
Gesto Social e em Administrao, a elaborao de uma proposta
para a criao de um curso de formao de tecnlogos em Gesto
Pblica e Gesto Social, a sua intensa discusso com a equipe de
professores da instituio e a participao, como professor, numa
das disciplinas do curso aps a sua implantao, em 2009.
A elaborao deste trabalho se deve a dois acontecimentos.
O primeiro, as discusses que ocorreram no mbito dessa equipe,
uma vez que um de seus pontos centrais de disputa foi justamente
o das interfaces e delimitaes. Esse acontecimento desenca-
deou um esforo para precisar o contexto cognitivo ou interpre-
tativo contido nas contribuies de pesquisadores que tratam o
tema. Esboado logo de incio, ele foi paulatinamente acrescido
com aspectos decorrentes da concepo poltico-ideolgica que
fundamenta a construo proposta.
O segundo acontecimento foram os dois trabalhos includos
na literatura que examinei de Pinho (2010)
3
e de Tenrio (2009)
relacionados a uma polmica entre os autores que teve lugar
na conferncia de abertura do Encontro anterior intitulada Ges-
to Social e Polticas Pblicas de Desenvolvimento. Esse acon-
tecimento teve duas implicaes. Por um lado, a percepo que
tive, ao constatar que o debate em que havia participado junto
quela equipe de professores se dava tambm em outros crculos,
encorajou-me a expor o que tinha apreendido. Por outro lado, o
recurso expositivo cronolgico utilizado por Tenrio (2009) para
3
Este trabalho Gesto Social: conceituando e discutindo os limites e possibilida-
des reais na sociedade me foi enviado pelo professor Pinho, a quem agradeo.
341
Renato Dagnino
relatar seu envolvimento com o tema estimulou-me a organizar
a exposio de modo anlogo, mostrando como foi evoluindo
meu prprio envolvimento e entendimento acerca do tema das
relaes entre GP e GS.
O trabalho est escrito de modo informal; ou pouco orto-
doxo academicamente falando. Ele procura reproduzir meu pro-
cesso de adaptao ao ambiente do Ciags-UFBA, uma vez que ele
percorreu um caminho em que a percepo que ia tendo acerca
da Administrao, das relaes entre GP e GS etc., teve um papel
central para fundamentar a proposta de capacitao que apresen-
tei quela equipe de professores
4
.
O esforo de escrita deste trabalho teve um resultado para-
lelo (no buscado e alcanado on the job) no campo metodol-
gico. Se entendido como uma aplicao do procedimento me-
todolgico, percebe-se como foi capaz de descrever e explicar as
esferas do privado, do pblico e do social (ou, pelas razes que
irei indicar, do privado, do governamental e do social) que se
situam no plano da realidade e projet-lo de modo descritivo-
explicativo, mas, tambm, normativo, no plano da gesto, in-
dividualizando esferas de Gesto Privada, Pblica e Social (ou
de Gesto Privada, Governamental e Social), suas interfaces e
delimitaes. Talvez o aprimoramento desse procedimento me-
todolgico seja til na tarefa que compartilho com os leitores, de
formar gestores pblicos (governamentais e sociais, de acordo
com meu entendimento) capazes de ajudar na construo de uma
sociedade mais justa, igualitria e ambientalmente sustentvel.
O trabalho est dividido em mais seis sees. A segunda
resultado do meu processo de familiarizao com o conceito
4
Embora este trabalho contribua para esclarecer os conceitos, concepes e
argumentos que fundamentaram essa proposta, seu objetivo no apresen-
t-la. Ela est contida no documento interno de discusso que apresentei
comisso, denominado Proposta de Projeto Pedaggico do Curso de Tecn-
logo em Gesto Pblica e Gesto Social (Ciags-EAUFBA).
342
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
de GS, da sua diferenciao do conceito de GP e das relaes
entre elas tal como tema aparece na literatura. O percurso segui-
do constou da anlise de uma razovel quantidade de trabalhos
sobre o tema. Essa anlise, juntamente com a sntese organizada
por Tenrio (2009) indicada acima, conforma o contexto inter-
pretativo das relaes entre GS e GP contido nessa literatura.
Esse contexto interpretativo, que contm os aspectos considera-
dos conceitualmente imprecisos ou simplesmente equivocados se-
gundo a minha viso, foi o insumo principal para a elaborao
de parte do que se apresenta a seguir; especialmente do que vem
a partir da quarta seo. No obstante o fato de que ele conhe-
cido pelos leitores muitos dos quais autores desses trabalhos ,
sugeriu que a ele se dedicassem poucas pginas.
A terceira seo d conta de uma preocupao que mar-
cou meu movimento de familiarizao ao ambiente e ao contexto
interpretativo, relativa aos conceitos predecessores daqueles
que trata a literatura acima referida de Administrao, Admi-
nistrao Geral, Administrao de Empresas, Administrao P-
blica etc. Embora no aparecessem nela problematizados, eles
pareciam merecedores de anlise: mant-los subjacentes dificul-
taria a crtica que os trabalhos suscitavam. Tambm na terceira
seo abordada a formao dos gestores pblicos. Assunto que
tampouco era problematizado no ambiente e em que eu passava
a atuar, mas que, devido minha participao no processo de
criao e implantao do curso de tecnlogos em GP e GS, se
afigurava como importante.
O resultado dessa seo passa a integrar o contexto inter-
pretativo das relaes entre GS e GP que at ento era o derivado
da anlise da literatura referida na segunda seo. Essa nova ver-
so do contexto interpretativo o ponto de partida para a ela-
borao das sees quatro, cinco e seis. Essas sees tratam da
reconstruo dos conceitos de GS e GP (e GG). Realizada a
partir da projeo das relaes entre o privado e o pblico, que se
343
Renato Dagnino
manifestam no plano da realidade, para o plano da gesto,
ela origina as propostas de modelizao dessas relaes.
A passagem da primeira verso do contexto interpretativo,
que continha elementos imprecisos ou simplesmente equivocados
segundo a minha viso, para a modelizao que se prope no lti-
mo item de cada uma daquelas trs sees possibilitada por uma
ponte cognitiva. Ela foi armada incorporando contedos tericos
provenientes de contribuies de um considervel nmero de auto-
res quele contexto interpretativo. Visando explicar e justificar o
que se vai propondo em cada seo, esses contedos fundamentam
a modelizao que se prope sobre as relaes entre Gesto Priva-
da, GP, GS e GG nos planos da realidade e da gesto.
Assim que cada uma das sees (quarta, quinta e sexta)
inicia com a apresentao desses contedos tericos; a qual ocupa
a maior parte do texto. Como essas apresentaes so, num certo
sentido, digresses, sua leitura pode ser dispensada pelos leitores
que, com elas familiarizados, desejem concentrar-se na anlise das
modelizaes elaboradas que so apresentadas no final de cada
seo. Em particular, da relativa proposta mais polmica, que
entende a GP como uma unio de dois conjuntos, a GS e a GG.
A stima seo apresenta as consideraes finais e conclu-
ses do trabalho.
comentrios sobre a histria dos conceitos de Gesto
pblica e Gesto social
Esta seo trata do conceito de Gesto Social (GS) e da sua
diferenciao do conceito de Gesto Pblica (GP) tal como o
tema aparece na literatura. O percurso que me levou ao que apre-
sento no seu primeiro item constou da leitura de uma razovel
quantidade de trabalhos. Alguns comentrios sobre eles que ali
aparecem foram suscitados pela polmica Tenrio versus Pinho a
que me referi anteriormente.
344
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
O que se apresenta no segundo item uma espcie de snte-
se da experincia do autor mais citado da rea Francisco Ten-
rio e protagonista da histria do conceito de GS. Organizada
recentemente por ele, essa sntese d a conhecer o que pode ser
entendido como o modo em que ele foi alterando a sua percepo
sobre aqueles conceitos e suas relaes. O destaque dado a esse
relato se deve a que ele serviu como referncia, ou eixo expositi-
vo, ao presente trabalho.
A funo desta seo no mbito deste trabalho apresentar o
contexto cognitivo relativo ao tema da GS e da GP e das suas in-
terfaces, delimitaes que serviu de referncia para a sua escrita.
Ele foi formulado a partir de uma avaliao das contribuies de
pesquisadores que tratam o tema. Foi a partir dela que se foram
escolhendo os contedos que, em cada seo, foram abordados nos
seus momentos de fundamentao terica. Isto , naqueles mo-
mentos em que se busca explicar e justificar com o concurso das
contribuies de um considervel nmero de autores, com diferen-
tes enfoques e sobre distintos assuntos, e tendo como referncia a
constatao do que considero como imperfeies do contexto cog-
nitivo ou interpretativo levantado nesta seo, a modelizao que
proponho sobre aquelas relaes entre a GS e a GP.
aspectos levantados pela polmica tenrio versus pinho
Em seu trabalho, Pinho (2010), como de se esperar numa
avaliao crtica, discorda de vrios de seus pares. E o faz co-
mentando suas contribuies, s vezes de modo direto e incisivo,
outras, benevolente e implcito; e outras, ainda, de forma que me
pareceu irnica, mas sempre de maneira bem circunstanciada.
Mais do que suas concluses em particular a de que, por
ser o modelo alternativo de desenvolvimento que serve de refe-
rncia ideia de GS incapaz de ferir, sequer arranhar, o modelo
hegemnico de poder, e porque o analfabetismo funcional que
345
Renato Dagnino
vitima a sociedade coloca seu combate como tarefa prioritria
e realista dos partidrios dessa ideia, o debate estaria de certo
modo desfocado , com as quais no posso concordar, me inte-
ressam algumas de suas crticas.
Mais do que o teor ingnuo e o contedo de wishful thinking
que ele identifica em algumas das contribuies, interessam-me
as crticas que explicitam a fragilidade e impreciso analtico-
conceitual com que o tema vem sendo tratado
5
. Isso porque elas
me induzem a adicionar outras que, no limite e como pude verifi-
car, dificultam a definio de uma agenda de pesquisa e de ativi-
dades de formao de pessoal na universidade pblica.
As consideraes que fao sobre elas, sem buscar polemi-
zar, se orientam a precisar, por excluso ou oposio, a viso que
tenho do tema e o campo ideolgico em que ela se situa.
Animadas por intenes com as quais compartilho
6
, algumas
das contribuies tendem a demonizar finalidades econmicas as-
sociando-as exclusivamente ao interesse das empresas, como se os
empreendimentos solidrios no devessem tambm (e o fazem) se
preocupar com elas. Outras, ao no levar seu esforo conceitual
muito alm de uma oposio da GS ainda que s vezes de modo
bastante sofisticado , ao que consideram, com nomes variados,
gesto tradicional, incorrem num pecado metodolgico; qual seja,
o de definir algo pelo que ele no ou deveria ser e no mediante
um processo de construo analtico-conceitual apoiado menos
5
Apenas a ttulo de exemplo, comento a um trabalho que se refere, sem
maior preocupao de conceituao, aos termos desenvolvimento e gesto
social, gesto do desenvolvimento social, gesto social do desenvolvi-
mento e gesto para o desenvolvimento social.
6
por no ser este o meu propsito e por valorizar esse compartilhar que,
apoiando-me em Tenrio (2009) quando diz abandono aqui a inteno de
polemizar com o refutante, no s para no perder o amigo, omiti qualquer
referncia autoria das ideias que aparecem nos trabalhos que comento. Na
realidade, sequer coloco entre aspas as expresses que neles aparecem.
346
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
no mtodo indutivo usual na literatura de Administrao e mais
no dedutivo que caracteriza outras abordagens.
No que isso no possa ser estendido para os autores que aca-
bo de referir, mas h muitos que escrevem como se desconhecessem
o carter o antagnico do capitalismo e os muitos dos que dele se
ocuparam. Dentre eles, alguns dizem acreditar que a GS, seja ela
praticada no mbito pblico ou privado, tem por objetivo funda-
mental o desenvolvimento social (como se as empresas pudessem ou
devessem atuar em prol do desenvolvimento social!). Nessa mesma
vertente h os que, embora critiquem a tendncia de banalizao e
a impreciso conceitual da GS, e expressem que ela deve ser uma
gesto voltada para o social, se dedicam, mediante aes que con-
sideram coerentes com sua viso, a auxiliar as empresas a atuarem
de acordo com uma suposta responsabilidade social e ambiental. E,
ademais, ao lado de outros colegas, a convencer os gestores pbli-
cos e a sociedade em geral da viabilidade do que fazem.
Tambm h os que, defendendo a importncia das polticas
sociais, atribuem o fato de elas no estarem alcanando os obje-
tivos a que se propem a uma gesto incorreta ou deficiente. E
que, justamente por isso, para melhorar sua eficincia, eficcia e
efetividade so necessrias a pesquisa e a formao de pessoal em
GS. Por apoiarem ou por aceitarem pragmaticamente a tendncia
de atribuir s ONGs, fundaes e empresas uma responsabilidade
crescente na implementao e mesmo na formulao e avaliao
dessas polticas, eles postulam que todas as organizaes, perten-
am elas esfera do mercado, do Estado ou do terceiro setor, de-
vem ser orientadas para e pelo social. E, coerentemente, entendem
que o conceito de GS no apenas abarcaria o espao do Pblico e
do Privado como seria compatvel com os seus ethos e com os in-
teresses dos atores que neles exercem sua ao
7
. Ao mesmo tempo,
7
Como irei mostrar, minha proposta contrria ideia de que a GS abarca-
ria a GP; muito menos que ela poderia aceitar a ideia de que a GS abarque
347
Renato Dagnino
ressaltando que as polticas sociais devem assumir um vis mais
transparente, participativo, social e ambientalmente responsvel,
e que isso poderia ser logrado pela via da adoo de prticas de
GS, parecem associar-se viso ingnua de que o Estado brasilei-
ro no funciona. E que, em consequncia, bastaria a formao de
gestores sociais competentes para fazer com que essas polticas
funcionassem. Isto , como se aquele no funcionamento no ti-
vesse um carter poltico que visa a manuteno e naturalizao
das relaes sociais de produo capitalistas e como se esse objeti-
vo de capacitao no demandasse um esforo de precisar inter-
faces e delimitaes entre a gesto privada, a GP, a GG e a GS.
Finalmente, e ainda nessa mesma vertente, h outras contri-
buies que, embora diferenciem a GS da gesto tradicional (ou
privada), no precisam os espaos (pblico ou privado) em que
elas se do, so concebidas e devem possuir pertinncia e funcio-
nalidade
8
. Dessa forma, ao no evidenciar (ou perceber) que isso
impossibilita a formulao de uma estratgia coerente com sua
inteno, que identifique atores, formas de atuao em diferentes
espaos, estilos de gesto etc., renunciam a assumir uma postura
consequente seja no plano poltico, seja no acadmico com
esta inteno.
a histria dos conceitos de Gesto pblica e Gesto social
segundo e experincia de um protagonista
Do contedo exposto em Tenrio (2009), possvel extrair
a seguinte interpretao da sntese que ele apresenta de experin-
cia com o conceito de GS.
a gesto privada. Ela prope a GP como um conjunto resultante da unio
entre outros dois, o da GG e o da GS.
8
Considero que a preocupao do presente trabalho, de precisar esses es-
paos no plano da realidade e projet-los no plano da gesto, a sua
contribuio (se que tem alguma) mais interessante.
348
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
Em 1993 ele teria criticado o conceito (que se manejava at
1992) restrito a questes relacionadas ao que posteriormente con-
vencionou-se chamar de terceiro setor e o contraposto ao signi-
ficado pretendido atualmente, de uma gesto concertada entre os
diversos atores da sociedade. E, tambm, a viso exposta em Kli-
ksberg, segundo a qual a GS estaria referida ao tipo de gerncia
(...) apropriado para obter eficincia em processos de planejamento
e de implementao de polticas sociais, e na gesto concreta de
programas sociais que respondesse imprescindibilidade de con-
tar com gerncia de alta qualificao para os processos de imple-
mentao de polticas sociais e da gesto de programas sociais.
Em 1997, ele teria criticado a viso segundo a qual a GS
(...) estaria vinculada exclusivamente conduo de polticas so-
ciais compensatrias, contrariamente a (...) uma gesto ampliada
na qual o processo decisrio seria vinculante ao dilogo cons-
ciente, procedimental, por meios dos diferentes atores da socie-
dade, sob a perspectiva de sujeitos em ao e no apenas de for-
mulaes oriundas das sensibilidades sociais dos dirigentes e/
ou tcnicos governamentais de turno, como, comumente, vinha
ocorrendo na Amrica Latina, mesmo nos perodos democrticos
de sua histria desenvolvimentista.
Em 1998, ao destacar a diferena entre os conceitos de
gesto social e de gesto estratgica, significando o primeiro um
processo de tomada de deciso dialgico e o segundo um proces-
so monolgico, ele idealizava que o terceiro setor seria o espa-
o organizacional possvel para prticas de gesto social.
Em 2005, ele abandona essa idealizao, isto , (...) a fantasia
de encontrar um lcus ideal gesto social. Ainda neste ano, ele
criticou o fato de que a GS tenha estado (...) muito mais associado
gesto de polticas sociais, de organizaes do terceiro setor, de
combate pobreza e at ambiental, do que discusso e possibilida-
de de uma gesto democrtica, participativa, quer na formulao de
polticas pblicas, quer naquelas relaes de carter produtivo.
349
Renato Dagnino
Formulou tambm a ideia de que gesto social seria
(...) o processo gerencial dialgico no qual a autoridade decisria
compartilhada entre os participantes da ao (ao que possa
ocorrer em qualquer tipo de sistema social pblico, privado ou
de organizaes no governamentais).
E prope que (...) o adjetivo social qualificando o subs-
tantivo gesto ser entendido como o espao privilegiado de re-
laes sociais onde todos tm o direito fala, sem nenhum tipo
de coao .
Em 2006, ele defende
a tese de que o importante no diferenciar gesto pblica de
gesto social, mas resgatar a funo bsica da administrao p-
blica que atender os interesses da sociedade como um todo.
Gesto social seria uma adjetiva da gesto pblica, no o seu
substituto.
E, finalmente, que
O conceito de gesto social seria desnecessrio se tanto o agente
pblico como o econmico praticassem uma gesto republicana:
uma gesto preocupada com a justia social, com o interesse pelo
bem comum e no com interesses privados.
A trajetria do autor se encontra no ponto em que ele, en-
tendendo que
(...) o intento de dicotomizar os significados de gesto social e de
gesto estratgica uma tentativa de no pautar os processos de-
cisrios exclusivamente pela tica da competio, do mercado tal
como se comporta no sistema socioeconomico em que vivemos.
Mas sim por meio de cursos de ao compreensivos, voltados
para o bem comum e para o bem viver. O que, segundo ele, se-
ria Nada utpico se atuarmos razoavelmente com os princpios
republicanos.
350
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
a pr-histria dos conceitos de Gesto pblica e Gesto
social
Esta seo, que apresenta o que para ns a pr-histria
dos conceitos de Gesto Pblica e Gesto Social, talvez devesse
ser referida como a primeira parte da minha histria de envol-
vimento e entendimento desses conceitos; sendo a segunda a que
objeto das sees quatro, cinco e seis do trabalho.
Esta seo d conta de uma preocupao suscitada pela lei-
tura dos trabalhos a que tive acesso e que incluram aqueles que
constam do relato de Francisco Tenrio. Ela se relacionava a con-
ceitos que podem ser considerados como predecessores aos que
estou focando: os de Administrao, Administrao Geral, Ad-
ministrao de Empresas e Administrao Pblica. Embora com-
preensivelmente eles no aparecessem problematizados naquela
literatura, pareciam merecedores de anlise. Mant-los subjacen-
tes poderia impedir a crtica que os trabalhos que estava lendo
sobre GP e GS poderiam suscitar.
Tambm nesta seo abordada a formao do dos gesto-
res pblicos; assunto que tampouco era problematizado no am-
biente e em que passara a atuar, mas que, em funo de minha
participao no processo de criao e implantao do curso de
formao de tecnlogos em GP e GS na UFBA, se afigurava como
importante.
administrao de empresas, administrao Geral e
administrao pblica
A literatura anglfona de Administrao (que em geral
mantm um enfoque que, apesar de alegadamente genrico, se
refere s empresas) costuma utilizar o termo Management para
referir-se ao mundo privado, das empresas. O termo Administra-
tion teria um significado mais amplo, buscando um status uni-
351
Renato Dagnino
versal capaz de abarcar todos os mbitos de atividade humana,
inclusive o mundo pblico. aquilo que passa a ser designado
como Administrao Geral.
A mesma literatura, usando o prefixo public, enfatiza o
que tem sido traduzido como administrao pblica para se re-
ferir ao ambiente pblico, de governo. No obstante, bastante
usado hoje no Brasil o termo Gesto Pblica para fazer referncia
s atividades que tm lugar no ambiente pblico ou aos conheci-
mentos que nele so aplicados.
As teorias da Administrao podem ser classificadas em
vrias correntes ou abordagens associadas a uma maneira es-
pecfica de encarar a tarefa e as caractersticas do trabalho de
administrao de organizaes. O conceito contemporneo de
Administrao Geral entende que administrar dirigir uma
organizao (grupo de indivduos com um objetivo comum, as-
sociados mediante uma entidade pblica ou privada) utilizando
tcnicas de gesto para que alcance seus objetivos de forma efi-
ciente, eficaz e com responsabilidade social e ambiental. Segundo
Lacombe (2003), a essncia do trabalho do administrador obter
resultados por meio das pessoas que ele coordena. J de acordo
com Drucker (1998), administrar consiste em manter as organi-
zaes coesas, fazendo-as funcionar.
A Administrao Geral subdividida segundo o tipo de or-
ganizao qual ela aplicada. Desde logo fcil perceber que
a administrao que se aplica a uma empresa privada diferente
daquela aplicada s instituies governamentais ou, ainda, da-
quela de um setor social sem fins lucrativos; mas isto no parece
suficientemente importante para ser considerado no mbito do
experimento de generalizao (ou abstrao) que caracteriza essa
maneira de enfocar a questo.
Uma organizao seria uma combinao de esforos indi-
viduais que tem por finalidade realizar propsitos coletivos. Por
meio de uma organizao torna-se possvel perseguir e alcanar
352
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
objetivos que seriam inatingveis para uma pessoa. Uma grande
empresa ou uma pequena oficina, um laboratrio ou o corpo de
bombeiros, um hospital ou uma escola so todos exemplos de or-
ganizaes (Maximiano, 1992). Uma organizao seria formada
pela soma de pessoas, mquinas e equipamentos, recursos finan-
ceiros e outros; seria o resultado da combinao de todos estes
elementos orientados a um objetivo comum; uma entidade social,
conscientemente coordenada, gozando de fronteiras delimitadas
que funcionam numa base relativamente contnua, tendo em vis-
ta a realizao de objetivos comuns que exigem grupos de duas
ou mais pessoas que estabelecem entre elas relaes de coopera-
o, aes formalmente coordenadas e funes hierarquicamente
diferenciadas (Bilhim, 1997).
Administrar uma organizao (ou organizar) supe atribuir
responsabilidades s pessoas e atividades aos rgos (unidades ad-
ministrativas). A pessoa encarregada do ato de administrar ou or-
ganizar, o administrador, embora investido de um poder dentro de
uma hierarquia predefinida, deve possuir uma capacitao intelec-
tual e moral para exerc-lo que o diferencie dos demais membros
da organizao e atuar como um lder. A atividade principal de um
lder consiste em influenciar um determinado grupo de pessoas a
fim de que elas faam o que se deseja. Porm, esta influncia no
deve ser coercitiva por meio do poder de um cargo nem tampouco
obrigando as pessoas a fazerem o que necessrio. Esta influncia
deve ocorrer, por exemplo, atravs da disponibilizao de um meio
de trabalho propcio para que todos os colaboradores desenvolvam
suas atividades por vontade prpria.
Foi com a Teoria das Relaes Humanas que a figura do
lder se consolidou no campo de preocupaes da Administra-
o de Empresas. O lder apareceu como uma alternativa do
administrador clssico com sua face coercitiva e autoritria. A
liderana passou a ser um assunto recorrente e vem assumindo
um papel central na Administrao. Segundo a viso contem-
353
Renato Dagnino
pornea, todo lder deve ser um servidor para seus funcion-
rios, deve possuir amor por seus comandados. Este amor no
apoiado em sentimento e sim em comportamentos, como cui-
dar, ajudar, elogiar, entre outros. Isso acontece, em particular,
no campo da Administrao Pblica, uma vez que nele coero,
autoritarismo e at mesmo hierarquia so dificilmente obten-
veis, assim como seu exerccio muitas vezes no implica um be-
nefcio material.
a formao do gestor pblico
No Brasil e em muitos outros pases, a consolidao da
Adminis trao Pblica como um curso superior posterior que-
la do de Administrao de Empresas. At a sua criao, eram os
administradores de empresas, juntamente com outros tipos de
profissionais, que compunham o quadro da burocracia. A cres-
cente complexidade do aparelho de Estado passou a exigir um
tipo de capacitao que no era oferecido pelas escolas de Admi-
nistrao de Empresas. Foi s ento, para enfrentar o desafio de
formar esses gestores pblicos, que se buscou identificar dentre
os contedos que constituem a Administrao Geral quais po-
deriam ser aplicados no ambiente pblico.
Mas, diferentemente do que seria desejvel, esse movimento
no esteve suficientemente aberto ao aporte de outras abordagens
disciplinares mais afeitas ao tratamento das questes sociais e
polticas que inevitavelmente se fazem presentes na interface en-
tre o Estado e a sociedade e mesmo no interior do prprio apa-
relho de Estado. Ele foi marcado por um processo que, em vez
de estar guiado por um objetivo de fuso interdisciplinar (ou,
pelo menos, multidisciplinar), se manteve basicamente orienta-
do pela tentativa de conformar, por eliminao ou excluso de
temas, aquilo que se entendia como Administrao de Empresas.
Para muitos professores e pesquisadores, esse processo aparecia
354
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
de outra maneira: como uma seleo, no conjunto de temas do
campo da Administrao Geral, daqueles que serviam Admi-
nistrao Pblica. Mas a espinha dorsal dos cursos de Adminis-
trao Pblica foi, na realidade, a Administrao de Empresas.
Em outras palavras, o currculo dos cursos de Administrao P-
blica foi sendo conformado atravs da adaptao de contedos
previamente existentes naquele dos cursos de Administrao de
Empresas e pela adio de outras disciplinas.
Frequentemente, e isso no apenas no Brasil, o quadro de
professores dos cursos de Administrao Pblica foi (e ) forma-
do por professores de cursos de Administrao de Empresas (na
maioria dos casos, oferecidos na mesma instituio) e por profes-
sores de disciplinas que provm de reas como Direito, Cincias
Contbeis, Sociologia, Economia e Cincia Poltica. Embora com
o correr do tempo sucessivas geraes de formandos de Adminis-
trao Pblica tenham sido absorvidos como professores desses
cursos, essas disciplinas continuaram a ser ministradas por pro-
fissionais nelas formados. O resultado foi a permanncia de uma
espcie de apartheid disciplinar muito distinto daquilo que seria
necessrio para propiciar uma fuso (supondo que ela fosse pos-
svel), entre a Administrao Geral (supondo que ela efetiva-
mente existisse e que fosse capaz de ser conformada por excluso
ou eliminao de contedos previamente enfeixados na Adminis-
trao de Empresas) e aquelas disciplinas.
Contudo, os administradores pblicos, formados, no melhor
dos casos, numa tenso disciplinar entre contedos de Adminis-
trao de Empresas e disciplinas que frequentemente se orienta-
vam a produzir argumentos para questionar as ideias de proprie-
dade privada dos meios de produo, venda da fora de trabalho,
lucro etc. pressupostos e razo de existncia da Administrao
de Empresas , dificilmente seriam capazes de autonoma mente
produzir uma sntese interdisciplinar como a que sua atuao
demandava.
355
Renato Dagnino
Essa situao foi ainda agravada pelo fato de que, com
muita frequncia, os contedos das disciplinas como Sociologia
e Cincia Poltica, que mais subsdios forneceram um cor-
reto diagnstico dos problemas que o administrador pblico
enfrenta e para o seu equacionamento de modo coerente com
os direitos democrticos e de cidadania, eram vistos como de
escassa importncia sua formao. Dificilmente modeliz-
veis e aplicveis em conjunto com os contedos que provinham
da Administrao de Empresas, com os quais, por defeito de
construo, no tinham como dialogar, mas que eram, estes
sim, modelizveis, operacionalizveis e aparentemente dotados
de um potencial de equacionamento de problemas muito valori-
zado por quem se preocupa em resolver problemas, eles eram,
de fato, quase inteis.
O resultado dessa situao era, ento, que os problemas
pblicos, ainda que fossem, na melhor das hipteses, diagnos-
ticados (momento descritivo: foto) e explicados (momento expli-
cativo: filme retrospectivo) atravs daquelas disciplinas, eram re-
solvidos (momento normativo: construo do futuro) mediante
a aplicao do conhecimento que provinha da Administrao de
Empresas.
Mas a tenso entre aquelas disciplinas e a Administrao
Geral no se situou apenas no plano dos contedos. Ela se esten-
deu para os planos da abordagem cognitiva (dedutiva versus in-
dutiva, respectivamente); do enfoque da situao-problema (con-
textualizado versus autocontido); do tratamento metodolgico
(anlise globalizante do mais frequente ou provvel versus estudo
de cases sobre o mais exitoso, ainda que atpico e no generali-
zvel); do objetivo intermedirio (produzir tendncias e fatos es-
tilizados) versus assinalar best practices e, para seguir utilizando
o jargo anglfono tpico da rea, possibilitar o benchmarking );
do objetivo final (equacionar problemas estruturais de modo ra-
cional visando a resultados positivos sistmicos e de longo prazo
356
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
versus atacar problemas pontuais passveis de soluo imediata
de modo incremental, visando resultados localizados e de alto
impacto a curto prazo).
Ainda no campo cognitivo ou, mais especificamente, peda-
ggico, a Administrao Geral permaneceu baseada na ideia
de que o administrador a pessoa que se destaca das demais por
atributos inatos, mas que podem at certo ponto ser adquiridos
pela via da capacitao formal. Tal caracterstica, como com-
preensvel, contagia o processo de formao, seja do adminis-
trador tradicional, seja do lder, com um ethos de diferenciao,
de elitismo meritocrtico e, no limite, de prepotncia; ainda que
entendido como um mal menor face ao imperativo tradicional
de apreender para saber mandar ou ao contemporneo apre-
ender para saber liderar. Tudo isso marcando com atributos de
competio e rivalidade tanto o processo formativo quanto o
comportamento profissional.
Mesmo que se considere a empresa privada como um am-
biente em que pessoas, tendo em vista a realizao de objeti-
vos comuns, estabelecem relaes de cooperao, o que muito
questionvel, no h como negar que o ambiente em que atua o
gestor pblico o aparelho de Estado politizado. Se isso as-
sim, a Administrao de Empresas, por muitos entendida como
um conjunto de conhecimentos cujo objetivo , seno eliminar,
manter os conflitos entre capital e trabalho num nvel que no
inviabilize a produo, no poderia ser a plataforma cognitiva
para a concepo de um curso de gesto pblica e, muito menos,
de um curso de gesto social com a perspectiva que parecia mais
adequada. Na realidade, tampouco a Administrao Geral, pe-
las razes j apontadas, poderia ser considerada uma plataforma
cognitiva adequada.
Essa inadequao se manifesta no papel proeminente que
vem assumindo o lder na Administrao Geral e por exten-
so na Administrao Pblica, e que teria que ser repensado por
357
Renato Dagnino
aqueles que, interessados numa proposta alternativa para a orga-
nizao do Estado, atuam no campo da GP e da GS. Ainda que a
figura do lder parea ser mais coerente com elas do que a do ad-
ministrador tradicional, originalmente concebido para substituir
o proprietrio no campo da gesto da empresa (assim como o
engenheiro, concebido para substitu-lo no campo da produo),
parece legtimo indagar sobre sua pertinncia para a gesto p-
blica. Sobretudo para aqueles gestores cuja funo a elaborao
das Polticas Sociais, que cada vez mais substituem pelo coopera-
tivismo, autogesto e solidariedade s prticas do empreendedo-
rismo, da competio.
possvel tambm evidenciar essa inadequao numa an-
lise, ainda que superficial, do currculo dos cursos de Adminis-
trao Pblica, inclusive dos implantados mais recentemente.
Segue neles de modo predominante a suposio de que existe
uma Administrao Geral! entendida como neutra e capaz de
atender tanto as empresas quanto o Estado, que pode por isso
servir como diretriz para a concepo de cursos de GP e GS.
Em vrios cursos, ideias e princpios derivados ou destilados
da Administrao de Empresas, s vezes sob a denominao
disciplinar de Introduo Administrao, Teoria da Adminis-
trao, Administrao Geral etc. so apresentados como porta-
dores de um contedo universal e neutro. comum tambm a
existncia de disciplinas com forte carter empresarial, como,
por exemplo, Administrao da Produo, Gesto da Qualida-
de Total, Empreendedorismo etc., e outras disciplinas que bus-
cam implementar a denominada Nova Gerncia Pblica, in-
troduzidas para dar conta das parcerias pblico-privado, dos
projetos com o Terceiro Setor, da Responsabilidade Social
Empresarial etc.
Tambm possvel observar que disciplinas cujos nomes
aludem a contedos prprios da gesto pblica so ministradas
mediante a utilizao de bibliografia orientada para a adminis-
358
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
trao de empresas. O que, quando mais no seja, tende a dar
aos alunos a falsa impresso de que os conceitos e relaes nela
tratados so aplicveis ao ambiente pblico.
Uma das excees mais interessantes no quadro aqui tra-
ado o movimento em torno do conceito de Administrao Po-
ltica liderado pelo professor Reginaldo Souza Santos da UFBA
(Santos, 2004). Esse movimento, influenciado pela leitura crtica
dos clssicos do campo da Administrao a partir da perspectiva
dos economistas marxistas, pode vir a desencadear um processo
de renovao semelhante ao que aqui defendo.
Esses comentrios encerram um dos argumentos centrais
desta seo: o de que carecemos de um marco analtico-concei-
tual especfico e adequado gesto pblica. No vou entrar no
fato, verdadeiro, de que sua elaborao foi dificultada pela Re-
forma Gerencial do Estado brasileiro que se iniciou em meados
da dcada de 1990, marcada pela proposio de que a lgica e
os mtodos de Administrao de Empresas deveriam ser adota-
dos para promov-la, o que veio a reforar um movimento que
levou o currculo dos cursos de Administrao Pblica a refletir
essas duas orientaes: a da Administrao Geral e a da Refor-
ma Gerencial. Por isso, tendem a formar gestores pblicos que as
aceitam acriticamente e, paradoxalmente, dificultam o processo
de transformao do Estado herdado do autoritarismo e do neo-
liberalismo.
Como tantas outras controvrsias que se manifestam no
campo do conhecimento e da educao, esta, pelo seu conte-
do ideolgico, tende a permanecer e se reproduzir quando novos
argumentos so incorporados ao debate. Passado o auge do pen-
samento neoliberal, quando a Nova Gerncia Pblica divulgada
pelos professores universitrios dos pases centrais penetrou na
universidade brasileira, e como mostra o movimento da Admi-
nistrao Poltica, antes comentado, voltou-se a discutir a ques-
to de como orientar a formao do gestor pblico.
359
Renato Dagnino
Ao evidenciar o carter falacioso e predatrio da Nova Ge-
rncia Pblica, muitos autores brasileiros e latino-americanos
inauguraram um perodo em que se busca um novo arranjo. O
que no quer dizer que novos argumentos no surjam e devam
ser analisados. Entre outros, aqueles que afirmam que a contro-
vrsia estaria perdendo sentido porque um gestor pode, sem sair
da mesma organizao, passar da condio de funcionrio p-
blico para a de empregado, como as privatizaes mostraram
(Fischer, 2004, p. 168). Ou que o gestor social entendido como
aquele profissional (de crescente importncia), que no mbito do
Estado, da empresa ou do terceiro setor se envolve diretamente
com as polticas sociais deveria ter uma formao to ecltica
que as distines que aquela controvrsia alude estariam perden-
do sentido. E que, portanto, a sua formao no teria por que,
mesmo no campo analtico-conceitual, contemplar as diferenas
(no meu entender, muito importantes) existentes entre a gesto de
empresas e a gesto pblica.
Um distanciamento crtico em relao ao que entendido
como a formao do administrador de empresa parece essencial.
Ele deve comear pelo questionamento do carter universal
conferido ao conceito de Administrao, entendido como um
corpo de conhecimento aplicvel em qualquer ambiente (pblico
ou privado) e explicitado nas conceituaes usualmente propos-
tas e empregadas em nosso meio e que tm servido para informar
a criao de cursos de Administrao Pblica.
reconstruindo conceitos: as relaes entre o privado e o
pblico nos planos da realidade e da gesto
Esta seo introduz a parte mais normativa, prescritiva ou
propositiva do trabalho, a qual abarca, ademais, as duas sees
que a sucedem, e que tem por objetivo conceber uma proposta de
entendimento e de atuao acerca da questo da Gesto Social da
360
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
e Gesto Pblica. Ela est baseada numa estilizao do que pode-
ria ter sido o processo histrico que teria conduzido ao momento
atual em que me encontro, um tanto equivocadamente, como irei
argumentar, tentando estabelecer as interfaces e delimitaes
entre os conceitos de gesto social e gesto pblica.
Para tratar o objeto desta parte do trabalho se ir proceder
a uma modelizao baseada em dois elementos (ou movimentos).
O primeiro, de natureza descritiva, tem a ver com o tratamen-
to que se d gesto. Ela aqui entendida como uma corres-
pondncia profissional, no plano da gesto, do que ocorre no
plano da realidade, em que se do as relaes entre o Estado e
a sociedade. Seu objetivo entender (descrever e explicar) a ma-
neira como as transformaes que vm ocorrendo no plano da
realidade vm-se incorporando ao plano da gesto. O segun-
do elemento (ou movimento) est baseado no primeiro, mas sua
natureza normativa. Ele se refere ao objetivo de atuar de forma
mais efetiva, dado que est baseado num diagnstico cuidadoso
da mudana da configurao daquelas relaes, na construo de
um cenrio normativo de maior justia, equidade e sustentabili-
dade ambiental.
Visto que o objetivo desta seo e das duas que a seguem a
construo de conceitos para intervir num debate que inerente-
mente poltico, o seu formato inclui uma apresentao da concep-
o poltico-ideolgica que fundamenta a construo proposta.
Esta segunda parte do trabalho pode ser entendida como
continuidade ao meu percurso intelectual de familiarizao com
o tema, cujo incio teve seu resultado apresentado na terceira se-
o acerca da pr-histria dos conceitos de Gesto Pblica e
Gesto Social.
Iniciando a abordagem do contedo explorado nesta segun-
da parte do trabalho, vou tratar do assunto relativo a esta quarta
seo, ou seja, as relaes entre o Privado e o Pblico: o plano
da realidade e o plano da gesto.
361
Renato Dagnino
Em relao ao primeiro elemento acima aludido, de natu-
reza descritiva, minha modelizao trata de um caso simples e
que corresponderia a um primeiro estgio do processo histrico
de evoluo das relaes entre a sociedade e o Estado capitalista,
quando o atendimento das demandas sociais no ocupava nelas
um espao significativo.
a natureza do estado capitalista
O surgimento do Estado nacional como forma de domina-
o se d com a apario e desenvolvimento do sistema capita-
lista. Sua formao parte de uma construo social (fetiche)
caracterizada pela delimitao de um espao territorial, o estabe-
lecimento de relaes sociais de produo baseadas na proprie-
dade privada dos meios de produo e da venda de fora de tra-
balho e a conformao das classes sociais a elas associadas. Os
sentimentos de pertencimento, cidadania e destino comum do
contedo simblico ideia de nao.
O Estado capitalista um fator de coeso (e de coero) da
sociedade em que vivemos. Sua condio de fiador e organizador
da sociedade capitalista supe um controle ideolgico e uma he-
gemonia que garantem o exerccio pleno, mas encoberto, da do-
minao na sociedade; a qual percebida como natural e tica.
Mas, ao mesmo tempo, o Estado capitalista forado a oscilar
permanentemente entre a hegemonia e o descobrimento de sua
verdadeira imbricao na sociedade.
A condio do Estado como fiador e organizador da socie-
dade capitalista e do processo de reproduo do capital tende a
ser mascarada (e, no limite, negada) pelas mediaes que estabe-
lece com a sociedade. Elas minimizam (ou ignoram) as clivagens
de classe e confinam a sociedade ao privado e ao econmico
(mercado) e reservam ao Estado o domnio sobre o pblico e o
poltico.
362
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
O Estado capitalista , ento, a expresso poltico-ideol-
gica da agenda produzida pela relao social que garante a re-
produo e naturalizao de uma ordem social necessria acu-
mulao de capital. a decantao das polticas ou tomadas de
deciso predominantes e de sua consequncia na estruturao do
aparato institucional que resolve as questes segundo a correla-
o de foras existente e mediante os recursos de poder que elas
podem mobilizar.
De acordo com essa viso, as polticas pblicas so formas
de interferncia do Estado, visando manuteno das relaes
sociais de determinada formao social. O Estado o viabiliza-
dor da implantao de um projeto de governo hegemnico, por
meio da criao, formulao e implantao de polticas (progra-
mas, projetos e aes) voltadas para satisfazer os interesses de
determinadas classes sociais.
O Estado capitalista concebido pela viso marxista como
expresso do poder social dominante. Por ser o Estado um fiador
no neutro de uma relao social contraditria e conflituosa, as
formas em que se materializa esta relao de poder nas institui-
es estatais esto constantemente atravessadas pelas lutas so-
ciais fundamentais.
O Estado, portanto, no se reduz burocracia pblica, em
que os organismos estatais planejam e programam as polticas
pblicas, agindo como mero instrumento de elaborao dessas
polticas, como um ente supraclassista, como propem as vises
liberal e weberiana. Contrapondo-se a essas vises que entendem
o Estado como um ente acima da luta de classes, a viso marxista
o percebe como uma relao historicamente determinada, uma
relao de dominao e subordinao, uma relao mantida en-
tre as classes sociais diferentes e antagnicas entre si.
Para compreender a dinmica das instituies estatais e para
situ-las no contexto das lutas sociais, necessrio ter presente a
dimenso contraditria substantiva que as atravessa: essas insti-
363
Renato Dagnino
tuies que podem ser interpretadas, ao mesmo tempo, como um
benefcio para as classes subalternas e como legitimadoras de um
sistema que as reproduz e perpetua como tais.
Na sociedade capitalista fundada na propriedade privada
dos meios de produo e venda de fora de trabalho por ope-
rrios assalariados, a funo do Estado, segundo a viso mar-
xista, seria defender os interesses da classe dominante sobre
o conjunto da sociedade. Isso implica em funcionar como um
capitalista coletivo ideal, criando e mantendo as condies
materiais (no nvel da infraestrutura econmico-produtiva)
necessrias para a reproduo do capital. Mas, para aparecer
como um Estado de todos e para todos e no como um agente
que serve classe dominante, ele (ou, mais exatamente, os in-
teresses sociais que ele atende e representa) desempenha uma
segunda funo. Ela se relaciona ao nvel da superestrutura
poltico-ideolgica e tem como mobilizador outros atores, en-
tre eles a mdia, um setor da burocracia que, ao apresentar-se
como promotor do bem-estar comum, torna-se capaz de inter-
nalizar e institucionalizar a luta poltica no interior do Estado.
E, ao faz-lo, assume um papel apaziguador de controle cor-
porativo da relao inerentemente conflituosa entre as classes.
Assim, atravs de uma ordem jurdica que o coloca como rbi-
tro das relaes entre as classes, no mbito mais geral da socie-
dade, o Estado capaz de atuar como mediador das relaes
entre capital e trabalho assalariado e, finalmente, no mbito
mais especfico da produo de mercadorias, garantir as condi-
es para reproduo do capital.
Sua terceira funo, decorrente de sua prerrogativa de arre-
cadar impostos e realizar transferncias para os agentes econ-
micos, subsidiando ou penalizando-os financeiramente, a que
faculta, tambm por esta via, garantir as condies para repro-
duo do capital. Finalmente, ao desempenhar o papel de filtro
em relao a outros Estados que lhe outorga o controle das rela-
364
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
es comerciais e financeiras com o exterior, o Estado nacional
capaz de influenciar, no plano mundial, ainda que de maneira
determinada pela relao de foras nele vigente, nas condies
para a reproduo do capital.
Como materializao e consequncia de uma resposta im-
posta ao capital pelas lutas dos trabalhadores, as instituies
estatais tm o efeito fetichizador de conferir legitimidade
sociedade capitalista tornando aceitvel mais alm do plano
ideolgico, no plano material a hegemonia do capital.
A figura abaixo proporciona uma visualizao da concep-
o marxista da relao Estado-sociedade que preside as ideias
que aqui esto sendo apresentadas. Ela indica como a sociedade
no pode ser entendida como um todo homogneo, mas sim
como uma composio contraditria de duas classes antagni-
cas resultantes da existncia de relaes sociais de produo ca-
pitalistas. Ela mostra a face aparente do fenmeno constitutivo
do Estado que estaria associada separao (artificial) dos dois
mbitos (do privado e do pblico) que prope a viso pluralista
do liberalismo. E contrape o que a viso marxista considera
a essncia desse fenmeno: uma situao em que, fruto de um
processo de coorganizao, essas relaes engendram um fe-
tiche, um terceiro ator (sendo os dois primeiros o capital e o
trabalho): o Estado. Ao aparecer como algo separado dessas
relaes, mas se constituir, na verdade, como o seu fiador, ga-
rantidor e naturalizador, ele capaz de garantir a reproduo
dessas relaes.
Ao aceitar a incluso das demandas das classes subalternas
na agenda pblica como questes socialmente relevantes, suscet-
veis portanto de resposta, a classe dominante sutura, antes que
ele se rompa, o tecido social tensionado por essas demandas; as
quais, deixando de ser um problema, do origem a instituies
estatais que se incorporam lgica da estatal e adquirem uma
dinmica prpria.
365
Renato Dagnino
Figura 1
A forma como se distribuem e atuam essas instituies,
suas decises e no decises, a expresso de sua cumplicidade
estrutural com o capital e seu circuito de acumulao e repro-
duo. Elas so, tambm, o resultado contraditrio e substanti-
vamente irracional, no sentido de no planejado, da igualmente
contraditria e irracional existncia e reproduo da sociedade
de classes que caracteriza o capitalismo. expressando esse
quadro que ODonnell (1978) escreve que o mapa do Estado ca-
pitalista conformado pelas cicatrizes que deixam as costuras
que vai fazendo a classe dominante no tecido social para impe-
dir que ele se abra e se evidenciem as contradies entre ela e
as classes subalternas. Ou para responder s crises e questes
que se produzem na interface Estado-sociedade e para manter a
estrutura social desigual que a razo de existncia dos apare-
lhos e aes estatais. As contradies, fracionamentos e super-
posies que caracterizam as instituies estatais (seu tamanho,
366
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
distribuio, disponibilidade de recursos) e sua atuao (as po-
lticas que formula, as aes que implementa e as que deixa de
fazer) dependem das relaes de foras (passada e presente) en-
tre capital e trabalho que se expressam no mbito de um dado
territrio.
Desconstruir o fetiche do Estado como elemento neutro e
situado acima das classes sociais uma pr-condio para chegar
a sua superao por uma forma de organizao social alternativa
e emancipadora.
O Estado pressupe uma comunidade poltica: ela con-
dio necessria para que a dominao seja consensualmente
aceita, e sua contnua reconstituio (e da propriedade privada
dos meios de produo, de um lado, e de vendedores da fora de
trabalho, de outro) um dos objetivos das instituies. A comu-
nidade poltica fruto da existncia de solidariedades coletivas
(cidadania, nao, povo). Por serem vigentes no mbito de grande
parte de uma populao territorialmente limitada, e serem resul-
tantes da crena de que ela compartilha importantes valores e
interesses e de que possvel propor metas comuns imputveis a
tais valores e interesses, essas solidariedades coletivas funcionam
em relao ao Estado como fundamento (alicerce, legitimador,
garantia de existncia) e como referencial (a quem o Estado deve
se referir, proteger).
A sociedade no pode (ou no costuma) aparecer como
fundamento ou referencial do Estado. Primeiro, porque o seu
fracionamento em duas classes sociais com interesses irrecon-
ciliveis no capaz de gerar mediaes num nvel que permita
o funcionamento do Estado. Segundo, porque, se a sociedade
fosse fundamento e referencial, o Estado apareceria como fia-
dor e organizador da dominao de classe que ali se exerce.
E, assim, o Estado no encobriria essa dominao e devolveria
diretamente sociedade a contradio fundamental da qual ele
prprio emana.
367
Renato Dagnino
As instituies exercem poder quando podem apoiar as de-
cises que correspondem lgica que preside o Estado com a
capacidade de coagir e impor sanes. A mobilizao de uma
capacidade de coero o que faz com que cada sujeito cumpra
o dever poltico de se ajustar aos compromissos que dele espera a
comunidade poltica.
O Estado capitalista o primeiro Estado que necessita le-
gitimar o seu poder em elementos que lhe so externos. Aquela
capacidade de coero demanda a existncia de um elemento que
fundamenta (possibilita, legitima) o controle dos recursos de do-
minao pelo Estado e sua pretenso, apoiada por tais recursos,
de ser habitualmente obedecido. Este elemento, esta solidarieda-
de coletiva o fundamento do Estado a cidadania. Mas ela
demanda, tambm, um segundo elemento que sirva de referncia
ao Estado: o referencial do Estado. Isto , uma solidariedade co-
letiva formada por sujeitos e relaes sociais, a cujos interesses de
vigncia e reproduo o Estado serve. Um terceiro elemento que
o Estado capitalista pode demandar em situaes at certo ponto
anormais e extremas, o de Povo; o mesmo tempo fundamento e
referencial ambguo do Estado.
modelizando: o privado e o pblico nos planos da realidade e
da gesto
O procedimento de modelizao que se inicia nesta seo e
prossegue nas sees subsequentes est representado no que res-
peita a relao entre o privado e o pblico na Figura 2.
Ali destacada a separao, no plano da realidade, da
relao Estado-sociedade, entre um espao pblico, do Estado,
e outro privado, da empresa, em que se dividiria a sociedade, e
que possui uma correspondncia projecional (indicada pelas se-
tas ascen dentes), no plano da gesto, na separao tradicional
entre Administrao Pblica e Administrao de Empresas.
368
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
Figura 2
A observao, ainda que superficial, da modelizao do
plano da realidade que aparece na Figura 2 suficiente para
concluir que ela no corresponde ao esquema descritivo mostra-
do na Figura 1. E, como de se esperar, tampouco condiz com
a viso da relao entre a sociedade e o Estado capitalista que
o explica e justifica apresentada no item anterior. Essa modeli-
zao adotada e complexificada nas sees que seguem, para
tratar as relaes entre GP e GS por dois motivos. O primeiro,
a pretenso enunciada na primeira frase deste trabalho, de
dialogar com interessados no tema das interfaces e delimita-
es. O segundo motivo o que se expressa na sua segunda
seo a respeito do alto valor outorgado ao fato de que as con-
tribuies de outros pesquisadores, ainda que distintas daquela
aqui proposta, esto animadas por intenes com as quais se
compartilha.
369
Renato Dagnino
reconstruindo conceitos: as relaes entre o privado, o
pblico e o social nos planos da realidade e da gesto
Dando prosseguimento ao tratamento do contedo de na-
tureza mais normativa que corresponde a esta segunda parte do
trabalho, continuarei adotando o procedimento de modelizao
j utilizado.
Nesta seo, vou complexificar a modelizao apresenta-
da anteriormente tornando-a coerente num segundo estgio do
que seria o processo de evoluo das relaes entre a sociedade
e o Estado capitalista, que se inicia nas primeiras dcadas do s-
culo XX, quando o atendimento das demandas sociais emerge
claramente como uma atribuio do Estado.
Mas, como j anunciado, antes de apresentar a modeliza-
o objeto desta seo farei uma digresso. Ela introduz o tema
das Polticas Sociais
9
e de sua relao com a Gesto Social.
o estado capitalista e as polticas sociais
Partimos da constatao de que, embora no devesse ser
assim (e no seja esta a minha viso), a expresso Gesto Pblica
tem sido frequentemente utilizada no meio acadmico e profis-
sional para designar um corpo de conhecimentos (ou um conjun-
to de atividades) associado de modo muito estreito elaborao
(entendida como o conjunto da Formulao, Implementao e
Avaliao) das polticas orientadas ao atendimento de deman-
das sociais: as Polticas Sociais. Elas abrangem os servios edu-
cacionais, de orientao social, de assistncia mdica, de ajuda
jurdica e outros providos pelo Estado; os quais, mesmo que ga-
9
Sigo aqui muito de perto o tratamento dado por Faleiros (2000) ao tema em uma
das obras mais completas e conhecidas publicadas no Brasil (j possui mais de
dez edies) sobre a relao entre as polticas sociais e o Estado capita lista.
370
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
rantidos por lei, geralmente aparecem como favores populao,
sendo implantados em conjunturas polticas de relativo ascenso
do movimento de massas.
A viso hegemnica, baseada na concepo de Estado plura-
lista ou liberal, e mais ainda na neoliberal, v as polticas econ-
micas e as polticas sociais como se estas no estivessem articu-
ladas e fossem independentes, como se no fossem elaboradas no
mbito de um Estado capitalista. Como se as polticas sociais no
fossem sempre o resultado de uma relao de foras entre classes
sociais antagnicas reproduzidas, legitimadas e materializadas
pelas instituies estatais numa dada formao histrico-social.
Entender as polticas pblicas como neutras, como algo
constitudo, por um lado, pelas polticas sociais que seriam a
contrapartida boa (porque destinadas a minorar o sofrimento
das classes subalternas) e, por outro, pelas polticas econmi-
cas, que seria ms, um equvoco. Ambas so funcionais
lgica do capital.
Para situar historicamente a questo, vale lembrar que, no
passado, o Cdigo Civil obrigava que o trabalhador fosse sus-
tentado por seus filhos quando ficasse velho. H muito isso no
mais assim. No regime salarial da economia capitalista, o
indivduo que contratado para o trabalho, e no o grupo fami-
liar, como chegou a ocorrer no passado; e as formas de produo
atuais destruram a famlia extensa que se organizava em torno
da economia de subsistncia.
claro que a interveno do Estado na garantia de benef-
cios e servios no substituiu a famlia. E mais; sua ao parece
pautar-se no modelo familiar. As Polticas Sociais so organi-
zadas em nome da solidariedade social: os jovens trabalhadores
contribuem para a aposentadoria dos velhos e para o cuidado e
a educao das crianas; as pessoas ss, para o tratamento dos
doentes ; os empregados, para os desempregados; os ativos, para
os inativos; os solteiros, para os casados (salrio-famlia) etc. A
371
Renato Dagnino
razo de existncia das polticas sociais seria, ento, fazer com
que a sociedade, assimilada a uma grande famlia, viva em har-
monia e paz social, uns colaborando com os outros.
A articulao do econmico e do poltico atravs das po-
lticas sociais um processo complexo que se relaciona com a
produo, com o consumo e com o capital financeiro. Porque as
polticas sociais (talvez em menor grau do que as demais polticas
pblicas, mas ainda assim de forma majoritria) no costumam
ser implementadas diretamente pelo Estado, mas por meio de
convnios e contratos com empresas privadas, ONGs e empresas
envolvidas com atividades de Responsabilidade Social Empresa-
rial, que passam a oferecer os servios financiados pelo Estado.
Este o caso de hospitais, escolas, bancos. Os hospitais par-
ticulares atendem a clientes da Previdncia ou da Assistncia So-
cial e cobram do Estado pelo servio, no raro com margem de lu-
cro. As escolas particulares recebem subsdios e bolsas para certo
nmero de estudantes, e os bancos servem de intermedirios para
vrios servios aos beneficirios, como, por exemplo, pagamentos
e cobranas previdencirias, evidentemente cobrando por eles.
Assim, e de modo que pode parecer paradoxal, essas orga-
nizaes mantm seu processo de acumulao de riqueza atravs
da implementao de polticas sociais. No entanto, cabe ao Esta-
do, por exemplo, a compra de equipamentos sofisticados e inten-
sivos em tecnologia para oferecer os servios mais caros e menos
lucrativos; a manuteno das faculdades mais caras, como as de
Medicina e Odontologia, enquanto os cursos menos dispendio-
sos e mais lucrativos so mantidos por empresas privadas.
H que ressaltar a esse respeito que inerente forma do
Estado capitalista, que se consolida no incio do sculo passado,
o fato de que as polticas sociais sejam implementadas por orga-
nizaes privadas. E que exista no interior do aparelho de Estado
de uma poro dedicada a reproduzir a fora de trabalho e outra
a reproduzir o capital.
372
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
O caso das polticas orientadas para o trabalhador um
bom exemplo. Trabalhadores desempregados, doentes, acidenta-
dos ou velhos so atendidos atravs de uma articulao do eco-
nmico e do poltico (as polticas sociais) que possibilita um ga-
nho para o setor privado capaz de compensar o prejuzo causado
pelo fato de eles e outros segmentos no produtivos no estarem
inseridos na produo de mercadorias.
Essas polticas servem tambm para retirar do mbito
da fbrica conflitos e reivindicaes, que so encaminhados e
tratados por rgos governamentais (hospitais, reparties p-
blicas ou tribunais) que os despolitizam, transformando-os em
assuntos individuais. As vtimas de eventos negativos ligados ao
processo produtivo (acidentes, doenas, incapacitao e invali-
dez), cuja origem est justamente nesse processo produtivo, so
responsabilizadas pela sua ocorrncia.
Os rgos de atendimento ao trabalhador que implementam
essas polticas no questionam as origens dos problemas dos as-
salariados, o ambiente que os condiciona, nem as relaes que os
produzem; contudo, trata-se cada caso atravs da percia, rele-
gando-o ao saber e ao sabor de especialistas que examinam indivi-
dualmente a vtima, e no as condies de produo e de trabalho.
Por essas e outras razes, as polticas sociais so vistas por
alguns crticos como algo incompatvel com aquele modelo fami-
liar. Apesar de aparecerem como compensaes, elas constitui-
riam um sistema poltico de mediaes entre capital e trabalho
que visa articulao de diferentes formas de reproduo das
relaes de explorao e dominao da fora de trabalho entre
si, com o processo de acumulao e com a correlao de foras
polticas e econmicas.
Devido a suas caractersticas, as polticas sociais, sobretudo
em pases perifricos como o nosso, costumam ter seu contedo
definido, em boa medida, no momento da implementao, e no
no momento da sua formulao, como o caso clssico em que
373
Renato Dagnino
os momentos de formulao, implementao e avaliao que in-
tegram o processo de elaborao da poltica esto mais clara-
mente definidos (Ham e Hill, 1994, Costa e Dagnino, 2008). Em
consequncia, e isso central para a argumentao a se desenvol-
ve aqui, as polticas sociais possuem entre ns um contedo que
reflete, em maior medida do que ocorre nos pases de capitalismo
avanado, a interesses e valores privados do que pblicos.
modelizando: o privado, o pblico e o social nos planos da
realidade e da gesto
Incorporando o acima exposto modelizao que procu-
ra estabelecer uma correspondncia projecional, no plano da
gesto, do que ocorre, no plano da realidade, em que se do
as relaes entre o Estado e a sociedade, teramos como resul-
tado o que apresentado na Figura 3. Ali se destaca, no plano
da realidade, um espao privado que comea a superpor-se ao
pblico denotando o fato das polticas pblicas (inclusive as so-
ciais) serem implementadas crescentemente pelas empresas. E um
espao social interno ao espao pblico, mas ao qual estariam
associadas as polticas sociais que, no plano da gesto, deman-
dariam aes de gesto das polticas sociais.
Diferentemente das polticas destinadas a orientar ou
subsidiar as atividades empresariais que possuem lgica e ra-
cionalidade facilmente operacionalizveis pelos profissionais da
Administrao de Empresas, as polticas pblicas e, em particu-
lar, as polticas sociais passariam a demandar, no apenas para
sua formulao, mas tambm para a sua implementao, um tipo
especfico de gestor. A formao desse tipo de gestor supe a vei-
culao de um conhecimento distinto daquele atinente s profis-
ses tradicionais que, no mbito do Estado, fornecem o suporte
cognitivo para a elaborao de polticas voltadas ao bom fun-
cionamento da economia capitalista. Entre outras caractersticas
374
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
das polticas sociais, o fato conhecido de que elas terminam em
muitos casos se opondo quelas demanda a formao de profis-
sionais especificamente capacitados para elabor-las.
Figura 3
A percepo de que a configurao que estava assumindo a
sociedade brasileira, fruto do processo contraditrio de democra-
tizao e excluso social em curso, exigia uma ao da universi-
dade no campo da GS levou a que alguns grupos situados em uni-
versidades pblicas, entre os quais o Ciags-UFBA, passassem a
abordar temas orientados a atender a crescente demanda cidad
dos movimentos sociais que se fazia presente no espao pblico.
Comeava a nascer a preocupao com a gesto das polticas so-
ciais que viria a desembocar na criao de uma rea de pesquisa
e formao de pessoal denominada GS.
375
Renato Dagnino
reconstruindo conceitos: a nova configurao das
relaes entre o privado, o pblico e o social nos planos da
realidade e da gesto
Seguindo o procedimento de ir complexificando a mode-
lizao das relaes entre o Privado, o Pblico e o Social, intro-
duzem-se agora aspectos relativos reforma gerencial do Estado
brasileiro e suas consequncias. Como no caso anterior, esse pro-
cedimento dar origem, sempre em termos de estilizao, a um
arranjo semelhante quele j mostrado nas Figuras 2 e 3.
Antes de prosseguir, so necessrias duas aclaraes. A pri-
meira, e mais breve, que, ao contrrio das duas modelizaes
apresentadas nas sees anteriores, em que se manteve uma preo-
cupao de natureza descritiva, a abordagem avana agora deci-
didamente no terreno normativo. A segunda, de que o arranjo
entre o Privado, o Pblico e o Social que agora se analisa, por ser
o que emerge da reforma gerencial do Estado e que corresponde
ao estgio atual do processo histrico de evoluo das relaes
entre a sociedade e o Estado capitalista, faz com que o atendi-
mento das demandas sociais passe a ser realizado de modo con-
sideravelmente distinto, fato que obriga longa digresso que
apresentada nos dois itens que seguem desta seo; que tambm
a mais longa deste trabalho.
o estado herdado e o estado necessrio
Este item aborda os processos que deram origem nova
configurao das relaes entre o Privado, o Pblico e o Social
explorando, principalmente, o que tenho chamado aqui de pla-
no da realidade. E o faz lanando mo de um procedimento
analtico que descreve as caractersticas do que aqui se denomina
Estado herdado e explica os movimentos causais a ele subja-
centes, por um lado; e que, por outro, prescreve o Estado ne-
376
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
cessrio: aquele que enfeixaria, idealmente, a configurao das
relaes Estado-sociedade possvel nos limites do capitalismo
10
.
A adoo desse procedimento possibilita explicitar o papel
que deveriam desempenhar a GP e seus subconjuntos a Gesto
Governamental (GG) e a GS para viabilizar, num contexto bra-
sileiro atual ainda adverso, o trnsito do Estado herdado para
o Estado necessrio.
O contexto institucional ainda marcado por polticas p-
blicas e prticas de gesto de carter demaggico e manipulador
(tpicas do Estado autoritrio do perodo militar) ou minimiza-
das e praticamente desativadas (como ocorreu no Estado mni-
mo do perodo do neoliberalismo
11
) e despreparado para atender
as demandas que nossa sociedade cada vez mais complexa lhes
coloca. O Estado necessrio entendido como um Estado ca-
paz no apenas de atender essas demandas, mas de fazer emergir
e satisfazer as demandas da maioria da populao hoje margi-
nalizada; e que possa, ademais, alavancar o atendimento das de-
mandas atinentes ao um novo estilo de desenvolvimento.
Uma caracterstica central e sinttica do Estado herdado
o fato de que ele no se encontra preparado para atender as de-
mandas da sociedade quanto a um estilo alternativo de desenvol-
vimento mais justo, economicamente igualitrio e ambientalmente
sustentvel, cabendo aos gestores pblicos um papel coadjuvante
imprescindvel (ao lado dos movimentos sociais) na sua transfor-
10
Muitas contribuies, a partir de uma crtica Reforma Gerencial, tm
apresentado elementos essenciais para a proposta aqui apresentada de
Estado Necessrio. Entre as mais recentes, vale citar Tenrio e Saravia
(2006), Thwaites Rey (2008) e Costa (2006).
11
Entre os muitos trabalhos que tratam do neoliberalismo e que autorizam a
caracterizar a Reforma Gerencial que designa o componente que se soma
ao militarismo para conformar o que chamo Estado Herdado como neo-
liberal, recomendo pela sua clareza e facilidade de entendimento a excelente
resenha feita por Diniz (2007).
377
Renato Dagnino
mao para Estado necessrio, entendido este como um Estado
capaz no apenas de atender s demandas presentes, mas de fazer
emergir e satisfazer novas demandas embutidas numa conforma-
o significativamente distinta das relaes Estado-sociedade e
associadas a um estilo alternativo de desenvolvimento.
No trecho que segue, sero inicialmente tratadas as carac-
tersticas do Estado herdado e de seu processo de constituio,
em particular do seu crescimento durante o perodo autoritrio
que sucedeu ao nacional-desenvolvimentismo e antecedeu ao seu
desmantelamento pelo neoliberalismo. Guillermo ODonnell, que
reconhecido como um dos mais agudos analistas latino-ameri-
canos das relaes Estado-sociedade, pesquisando sobre as par-
ticularidades de um tipo especfico de Estado capitalista, o Es-
tado burocrtico autoritrio latino-americano, provavelmente
o pesquisador que mais tem contribudo para o entendimento
desse primeiro componente da matriz que compe o chamado
Estado herdado, que provm do perodo militar. Sua expresso
corporativismo bifronte combinao de uma face estatista
possibilitada pela conquista do Estado pelos militares e a su-
bordinao da sociedade civil com outra privatista que teria
colocado a servio de setores dominantes as suas instituies
especialmente elucidativa (ODonnell, 1976).
Em seguida, sero fornecidos elementos que fundamentam
a proposio de que este Estado herdado duplamente in-
compatvel com a proposta de mudana desejada pela socieda-
de brasileira. De um lado, porque a forma como se relaciona
com a sociedade impede que ele formule e implemente polticas
pblicas com um contedo que contribua para alavancar essa
mudana. De outro, porque o modo como se processa a ao de
governo na sua relao com o Estado existente, determinado
pelos contornos de seu aparelho institucional irreconcilivel
com as premissas de participao, transparncia e efetividade
dessa proposta.
378
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
Pode-se dizer que, mais alm das preferncias ideolgicas,
a combinao que o Pas herdou do perodo militar (1964-1985),
de um Estado que associava patrimonialismo e autoritarismo
com clientelismo
12
, hipertrofia com opacidade, insulamento com
intervencionismo, deficitarismo com megalomania, no atendia
ao projeto das coalizes de direita e muito menos daquelas de
esquerda que, a partir da redemocratizao, iniciada em meados
dos anos de 1980, poderiam suceder os governos de ento.
um princpio bsico da ao humana e da atuao das
organizaes o fato de que todas as decises tm um custo de
operao e que, se equivocadas, demandam a absoro de custos
de oportunidade econmicos e polticos. O Estado legado por
mais de 20 anos de autoritarismo no contemplou os recursos
como escassos. Os econmicos podiam ser financiados interna
ou externamente com aumento da dvida imposta popula-
o, os polticos eram virtualmente inesgotveis, uma vez que seu
aparato repressivo a servio do regime militar sufocava qualquer
oposio.
Mas outra herana, alm daquela da ditadura militar, con-
formou o Estado Herdado: seu outro componente central se
origina no perodo do neoliberalismo.
A reforma gerencial do Estado brasileiro, proposta pela dou-
trina neoliberal e iniciada pelos governos civis que sucederam
queda do militarismo, teve como o mais conhecido expoente, como
ministro, o professor e pesquisador Luis Carlos Bresser-Pereira
13
.
Muitos trabalhos abordam a Reforma Gerencial que proporciona
12
Para uma anlise detalhada e muito bem fundamentada desses e de outros
ismos que caracterizam o Estado herdado (patrimonialismo, mando-
nismo, personalismo, formalismo), ver Costa (2006).
13
Entre os vrios trabalhos de sua autoria que tratam do tema, est o docu-
mento oficial (Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, 1995) que
pautou as iniciativas governamentais e que pode ser considerado uma trans-
posio de suas ideias para uma linguagem no acadmica.
379
Renato Dagnino
o segundo componente do que chamo Estado herdado . A emer-
gncia do neoliberalismo que a informa analisada por alguns
autores a partir de um enfoque histrico-poltico, como o caso
de Fonseca (2006), que privilegia as transformaes pelas quais
passou o estado capitalista desde a sua fase liberal at a atual,
que denominou de ultraliberal, passando pelo Estado de bem-
estar keynesiano. Por outros, a partir de um enfoque econmico
funcionalista, como o caso de Diniz (2007), que ressalta as mu-
danas que vinham ocorrendo no plano financeiro internacional
e que passam a pressionar por uma nova dinmica de acumulao
capitalista baseada no iderio neoliberal.
A reforma gerencial no encontrou muitos opositores. Para
a direita, a questo era inequvoca. No havia porque defender
um Estado que ela considerava superinterventor, proprietrio,
deficitrio, paquidrmico e que, ademais, se tornava crescente-
mente anacrnico na cena internacional. Na verdade, j h mui-
to, desde o momento em que, no cumprimento de sua funo de
garantir a ordem capitalista, ele havia sufocado as foras pro-
gressistas e assegurado condies privilegiadas para o capital es-
trangeiro, ele se tornara disfuncional para setores importantes da
classe dominante.
J para a esquerda, que tinha participado do fortalecimento
do Estado do nacional-desenvolvimentismo, a questo era bem
mais complexa. Ela o entendia como um baluarte contra a
nomea da dominao imperialista e como uma espcie de suced-
neo de uma burguesia incapaz, por estar j aliada com o capital
internacional, de levar a cabo sua misso histrica de promover
uma revoluo democrtico-burguesa. De fato, mesmo no auge
do autoritarismo, o crescimento do Estado era visto pela esquer-
da como um mal menor. Ao mesmo tempo em que denunciava
o carter de classe, repressivo e reprodutor da desigualdade social
do Estado brasileiro, a esquerda via este crescimento como neces-
srio para viabilizar seu projeto de longo prazo de reconstruo
380
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
nacional; e, tambm, para assentar as bases do que seria o Esta-
do forte capaz de planejar e viabilizar a transio ao socialismo
segundo o modelo sovitico ainda vigente.
A questo dividiu a esquerda. De um lado os que, frente
ameaa de um futuro incerto, defendiam intuitivamente o passa-
do, e os que, protegendo interesses corporativos mal entendendo
os conceitos de Estado, nao e autonomia nacional, defendiam
ardorosamente o Estado do nacional-desenvolvimentismo. Essa
faco da esquerda entendia que, eliminados os vcios autorit-
rios, repressivos etc. do Estado dos militares, sobraria um apare-
lho compatvel com o seu projeto poltico.
De outro lado estavam os que entendiam que a construo
do Estado necessrio iria demandar algumas das providncias
que estavam sendo tomadas e que o fortalecimento de uma alter-
nativa democrtica e popular ao neoliberalismo no privilegiava
a questo, defendendo o controle da sociedade sobre o processo
de privatizao.
Desde o final do regime militar se inicia no Brasil um pro-
cesso de democratizao poltica que vem possibilitando uma
considervel presso por direitos de cidadania. O aumento da
capacidade dos segmentos marginalizados de defender seus inte-
resses e reivindicar o atendimento de suas necessidades por bens
e servios alimentao, transporte, moradia, sade, educao,
comunicao etc. vem levando uma crescente demanda por po-
lticas pblicas capazes de promov-lo. Para satisfazer essas ne-
cessidades sociais com eficcia, e no volume que se demanda,
ser necessrio duplicar o tamanho dessas polticas para incor-
porar os 50% desatendidos da populao.
Se no for possvel promover um processo de transforma-
o do Estado herdado em direo ao Estado necessrio que
busque satisfazer as necessidades sociais represadas ao longo de
tanto tempo, o processo de democratizao pode ter dificuldade
ou mesmo fracassar, com enorme esterilizao de energia social
381
Renato Dagnino
e poltica. claro que, para satisfazer quelas demandas, o in-
grediente fundamental, que no depende diretamente do Esta-
do, est relacionado a uma ampla conscientizao e mobilizao
poltica que, se espera, ocorrer sem maiores custos sociais alm
dos que a sociedade vem pagando.
Apesar disso, pode-se observar que a correlao de foras
polticas, que sanciona uma brutal e at agora crescente concen-
trao de poder econmico, muito pouco espao deixa para que
aes internas ao Estado possam alterar a situao de misria
observada na maioria da populao.
H que se entender a esse respeito que a configurao atual
do Estado brasileiro o Estado herdado uma consequn cia
da concentrao de poder econmico e poltico vigente no Pas,
que foi estabelecendo um tipo particular de relao Estado-so-
ciedade. Ela se revela na coexistncia, no mbito das polticas
pblicas que implementam o Estado, de dois espaos distintos.
O primeiro, que serve classe proprietria, criao da in-
fraestrutura econmico-produtiva e coordenao econmica,
que so relativamente preservados e insulados do clientelismo
seguindo um padro de eficincia e eficcia semelhante quele
que vigora no Estado de bem-estar dos pases avanados
14
. E o
segundo, que abrange os rgos pertencentes aos ministrios
sociais que servem s classes subalternas, que so objeto de re-
partio poltica entre os partidos que apoiam o governo e em
que usual a prtica do clientelismo, onde aquele padro se
14
ODonnell (2004) apresenta um esquema para entender e avaliar o Esta-
do baseado em quatro dimenses: eficcia, que faz referncia ao conjunto
de burocracias que o compe; efetividade, referente ao seu sistema legal;
credibi lidade, que ele granjeia como realizador do bem comum da nao,
ou do povo; e a capacidade, que alusiva atuao como filtro adequado
ao interesse geral de sua populao. Concordando com o que apresentado
para a Amrica Latina em geral, possvel dizer que temos tido e seguimos
tendo um Estado que registra um baixo escore nessas quatro dimenses.
382
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
situa muito abaixo daquele que exibem pases perifricos com
renda muito inferior nossa.
Esse tipo particular de relao Estado-sociedade revelado,
tambm e por consequncia, numa segmentao do funcionalis-
mo pblico em duas categorias distintas que convivem no inte-
rior do Estado. Elas se compuseram na dcada de 1950, quando
recm se consolidava uma administrao meritocrtica de tipo
weberiano que pretendia se impor ao modelo burocrtico pa-
trimonial. Com caractersticas profissionais e remunerao mui-
to distintas, elas passaram a ser responsveis pelo funcionamento
daqueles dois espaos de poltica pblica que vm desde ento
contribuindo para aprofundar nossa concentrao de poder eco-
nmico e poltico. A partir dessa poca se institui um descola-
mento que foi aprofundado consideravelmente durante o governo
militar entre os barnabs, cujo estatuto foi estabelecido por
ocasio da reforma do Estado iniciada em 1938, e a burocra-
cia pblica moderna que, no ncleo do aparelho administrativo
ou nas empresas estatais, passava a implementar a estratgia de
desenvolvimento do capitalismo brasileiro: o nacional-desenvol-
vimentismo (Bresser-Pereira, 2007).
A existncia desses dois espaos e, consequentemente, de
dois tipos de burocracia ( tambm necessrio que se entenda),
nunca foi vista como um problema. Como algo que devia ser
resolvido no sentido de modernizar o Estado, tornando-o mais
prximo daquele dos pases de capitalismo avanado que se to-
mava como modelo. Ao contrrio, uma espcie de acordo entre
a classe poltica e o segmento no estatutrio, mais bem pago,
em geral mais bem preparado e que teve um papel fundamental
na execuo dos projetos de desenvolvimento do perodo militar,
terminou levando a uma situao totalmente anmala quando
comparada com a dos pases avanados. No Brasil, cada vez que
assume um novo presidente da Repblica, abrem-se 50 mil cargos
de livre provimento para nomeao (Bresser-Pereira, 2007).
383
Renato Dagnino
o trnsito do estado herdado para o estado necessrio
Para entender melhor as dificuldades que envolvem a tran-
sio do Estado herdado para o Estado necessrio, interes-
sante lembrar uma passagem de Claus Offe. Ela to elucidativa
para entender porque malograram as tentativas de reforma do
Estado que h mais de 80 anos se sucedem em nosso pas, que
tem sido usada por muitos autores, entre eles Martins e Costa
(2006), para criticar a Reforma Gerencial:
(...) bem possvel que o desnvel entre o modo de operao in-
terno e as exigncias funcionais impostas do exterior admi-
nistrao do Estado no se deva estrutura de uma burocracia
retrgrada, e sim estrutura de um meio socioeconmico que
(...) fixa a administrao estatal em um certo modo de opera-
o (...). bvio que um desnvel desse gnero entre o esquema
normativo da administrao e as exigncias funcionais externas
no poderia ser superado atravs de uma reforma administrativa,
mas somente atravs de uma reforma daquelas estruturas do
meio que provocam a contradio entre estrutura administrativa
e capacidade de desempenho (Offe, 1994, p. 219).
Em outras palavras, o que o autor assinala que o desnvel
entre o modo de operao (interno) do Estado e as exigncias
funcionais provenientes do exterior no se deve a uma estrutura
burocrtica retrgrada, e sim a um ambiente socioeconmico e
poltico (este sim, retrgrado) que condiciona a administrao
estatal a um certo modo de operao. E que um desnvel desse
tipo no pode ser superado atravs de uma reforma administrati-
va. Ele demanda uma reforma das estruturas daquele ambiente
que provocam a contradio entre a administrao e sua capaci-
dade de desempenho.
Enquanto essa reforma das estruturas socioeconmi-
cas no ocorre, necessrio entender que a ideia to difundida
entre ns de que o Estado brasileiro no funciona! deve ser
384
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
matizada por essa contribuio de Offe. Isso nos remete a uma
indagao: ser que o Estado brasileiro no funciona bem para
a classe rica?
Adotando uma postura taxativa, a resposta fcil. O Es-
tado (capitalista) brasileiro foi conformado mediante a sucessiva
resoluo de agendas decisrias enviesadas pelos interesses e va-
lores da classe proprietria. E, por isso, ele funciona, e muito
bem, para a classe proprietria. E s funciona para a classe
trabalhadora se isso for funcional para a manuteno e naturali-
zao das relaes sociais capitalistas; isto , para a manuteno
da reproduo do capital. E, alm disso, como ocorreu no Estado
de bem-estar, quando a classe trabalhadora, organizada, capaz
de pressionar para que isso acontea.
Mas, como fazer o Estado funcionar para a classe tra-
balhadora? Mudar a sua conformao, entende o senso comum,
implica um caminho de volta e um movimento de fora para
dentro. Isto , supe-se alterar o contexto poltico, econmico
e social que garante a relao de foras que sanciona as agendas
que interessam a classe proprietria. Assim, paulatinamente, o
carter do Estado ou sua incapacidade de funcionar para a
classe trabalhadora seria alterado. Nessa perspectiva, que ape-
nas parcialmente correta, reformar o Estado, mud-lo de den-
tro para fora, seria irrealista, uma vez que o Estado um reflexo
do contexto.
No obstante, de extrema importncia que foras progres-
sistas faam a sua parte a partir do Estado. Uma das motiva-
es deste trabalho aumentar as chances de xito do esforo
que deve ser despendido na frente interna para gerar as con-
dies cognitivas necessrias transformao do Estado. Trans-
formao que est sendo tambm impulsionada na frente exter-
na do contexto social e poltico, pelos segmentos da sociedade
identificados com o estilo alternativo de desenvolvimento que se
desenha para o futuro.
385
Renato Dagnino
A viso sistmica e a considerao da existncia do grau de
autonomia relativa existente na relao Estado-sociedade suge-
rem que uma alterao prvia do contexto pode no ser suficien-
te. E, talvez, nem mesmo necessria.
No que respeita condio necessria, parece possvel ir
mudando aquela conformao mesmo que a relao de foras
no contexto da sociedade no se tenha ainda alterado a ponto de
desencadear uma mudana natural ou socialmente induzida
no Estado. Se o aparelho de Estado est sendo ocupado por
um governo sensvel s demandas da classe trabalhadora, tender
a haver dentro dele uma relao favorvel a essa mudana. En-
to, esse governo poder, ainda que a relao de foras polticas
e econmicas no contexto no seja a ela favorvel, pressionar
para que a agenda decisria se v aproximando da sua agenda
de governo; a qual inclui, por construo, as demandas da classe
trabalhadora. E seria justamente esse processo que, simultanea-
mente, iria alterando a relao de foras polticas no contexto e a
configurao do Estado herdado por aquele governo.
Suplementarmente, teria que ocorrer, no plano interno, dos
integrantes do aparelho de Estado (burocratas), a neutralizao
dos contrrios ao atendimento daquelas demandas e a capacita-
o e empoderamento daqueles a favor. E, no plano institucional,
a desmontagem de arranjos legais, procedimentos administrati-
vos, normas de funcionamento etc., que garantiriam o modo de
funcionamento que aquele governo estivesse interessado em mu-
dar. E, tambm, a criao de outros arranjos que trouxessem
engatilhada a mudana atravs da adoo de metodologias de
trabalho e de gesto (Pblica e Social) que permitam maior ra-
cionalidade, transparncia, accountability etc. no mbito interno
e, no externo, o favorecimento participao crescente dos mo-
vimentos sociais e da classe trabalhadora.
O primeiro caso, aquele em que a alterao prvia do con-
texto pode no ser suficiente para mudar o carter do Estado, re-
386
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
mete a uma conjuntura em que o contexto, em funo de um mo-
vimento de ascenso da conscientizao e mobilizao da classe
trabalhadora, est sendo rapidamente alterado, mas em que o
governo que ocupa o aparelho de Estado, embora sensvel s
demandas da classe trabalhadora, no se mostra capaz de imple-
mentar as mudanas necessrias para responder alterao do
contexto e, muito menos, para promov-la.
A cadeia de argumentos e eventos hipotticos indicados an-
teriormente mostra porque a transio do Estado herdado para
o Estado necessrio no ir comear por nenhum dos extremos
de reforma do Estado ou da reforma das estruturas do meio so-
cioeconmico , e sim pela mobilizao de um ciclo virtuoso que
v da capacitao dos gestores pblicos para a transformao das
relaes Estado-sociedade. Essa cadeia explica, tambm, porque
este trabalho se ocupa com tanta nfase da necessidade de arti-
culao entre a Gesto Pblica e a Gesto Social.
Diversos autores latino-americanos tm refletido sobre a as-
sociao entre a reflexo desenvolvida sobre as caractersticas da
relao Estado-sociedade, o aumento da participao poltica e a
mudana da arquitetura do Estado; e, em consequncia, nas po-
lticas pblicas elaboradas nesses pases. Paramio (2008) mostra
como as propostas sobre a segunda gerao de reformas, inicia-
da no final dos anos de 1990, combinada com a presso poltica
contra o impacto social e econmico negativo da primeira , ori-
gina, em funo das caractersticas daquela relao, reaes dis-
tintas em dois grupos de pases da regio. Atrio e Piccone (2008),
concordando com a ideia de que a mudana no modo de opera-
o da burocracia depende criticamente das exigncias impos-
tas pela relao Estado-sociedade, apontam recomendaes para
esta mudana.
Contudo, importante lembrar que, medida que a demo-
cratizao avance e a concentrao de renda, que hoje asfixia nos-
so desenvolvimento e penaliza a sociedade brasileira, for sendo
387
Renato Dagnino
alterada, se amplia o espao econmico e poltico para um tipo
de atuao da burocracia com ela coerente. E, nessa conjuntura,
o conhecimento que passaro a deter os gestores que necessrio
capacitar poder fazer toda a diferena. Isto , talvez sejam ideias
como as apresentadas neste trabalho o que ir decidir se ser pos-
svel alcanar ou no a governabilidade necessria para tornar
sustentvel o processo de mudana social em que a sociedade est
empenhada. Da a importncia de disponibilizar conhecimentos
aos gestores pblicos que possam levar melhoria das polticas,
ao aumento da eficcia da sua prpria mquina
15
e sua trans-
formao numa direo coerente com a materializao daquele
novo estilo de desenvolvimento.
Privatizao, desregulao e liberalizao dos mercados
tm impedido que o Estado brasileiro se concentre em saldar a
dvida social e, enquanto Estado-nao capitalista, por certo ,
assumir suas responsabilidades em relao proteo aos mais
fracos, desnacionalizao da economia e subordinao aos
interesses do capital globalizado. Assumir essas responsabilida-
des e materializar os processos de democratizao e redimensio-
namento do Estado so desafios interdependentes e complemen-
tares que demandam de maneira evidente avanar no debate dos
contedos de que estou tratando.
A redefinio das fronteiras entre o pblico, o social e o
privado exige uma cuidadosa deciso. Quais assuntos podem ser
15
Ao colocar a expresso mquina entre aspas se quer assinalar que, ao con-
trrio das mquinas, o Estado o resultado mutante de um permanente
processo de resoluo de agendas decisrias que representam em cada mo-
mento a relao de foras presentes numa dada sociedade. E que, como um
ser vivo e diferentemente de uma mquina, que quando tem um de seus
componentes quebrados se detm, o Estado, quando uma de suas partes
funciona mal, se atrofia, ou deixa de funcionar, ainda assim no para. Ele
se adapta nova situao, muitas vezes fazendo com que outra de suas par-
tes se hipertrofie a fim de permitir sua marcha.
388
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
desregulamentados e deixados para que as interaes entre atores
privados com poder similar determinem incrementalmente, ain-
da que com uma atenta monitorao e fiscalizao por parte do
Estado, um ajuste socialmente aceitvel? Quais devem ser objeto
da agenda pblica, de um processo de deciso racional, partici-
pativo e de uma implementao e avaliao sob a responsabilida-
de direta do Estado?
A democracia uma condio necessria para construir
um Estado que promova o bem-estar das maiorias. S o con-
junto que ela forma com outra condio necessria a capaci-
dade de gesto pblica suficiente. Sem democracia no h
participao e transparncia nas decises, no h planejamento
participativo, avaliao de polticas, prestao de contas. No
h responsveis, h impunidade. Mas a democracia, se restrita
a um discurso poltico genrico e sem relao com a ao co-
tidiana de governo, pode degenerar num assemblesmo incon-
sequente e irresponsvel e numa situao de descompromisso e
ineficincia generalizada.
Governar num ambiente de democracia e participao e, ao
mesmo tempo, com enormes desigualdades sociais requer capa-
cidades e habilidades extremamente complexas e difceis de con-
formar, sobretudo no mbito de um Estado como o que herda-
mos. E sem a utilizao das ferramentas de gesto participativas
de modo articulado isso ser ainda mais difcil.
Tanto a direita como a esquerda perceberam a necessidade
de contar com metodologias de GG e de GS que, ao mesmo tem-
po, promovam e deem consequncia participao popular. A
primeira, porque j no pode manter o estado de ignorncia e
subordinao do qual at agora tm lanado mo para seguir
governando. A segunda, porque, ao abandonar sua estratgia de
revoluo armada que permitiria a seus quadros, tomando o po-
der e atravs de um renovado apoio das massas, usar o Estado
para alcanar o seu cenrio normativo, percebeu que a simples
389
Renato Dagnino
mobilizao poltica no era suficiente. De fato, ao abraar a via
eleitoral, a participao, mais do que a mobilizao poltica, a
garantia que tem a esquerda para dar consequncia e manter o
apoio popular que foi capaz de conquistar.
a construo do estado necessrio e a Gesto Governamental
Este item se inicia com a apresentao do argumento de que o
trnsito do Estado herdado para o Estado necessrio demanda
a capacitao de seus quadros e a formao de novos gestores que
aliem dois tipos de capacidades ou habilidades bsicas. A primeira
dominar os aspectos tericos e prticos do processo de elaborao
de polticas pblicas a ponto de serem capazes de utiliz-los como
ferramenta da mudana social, econmica e poltica. A segunda ca-
pacidade diz respeito atuao de maneira eficiente no seu dia a dia
a ponto de fazerem com que a estrutura que corporificam o Esta-
do seja cada vez mais eficaz no uso dos recursos que a sociedade
lhe faculta e que produza impactos crescentemente efetivos.
A democratizao poltica est levando a um crescimento
exponencial da agenda de governo; a erupo de uma infinida-
de de problemas que, em geral, demandam solues especficas
e criativas muito mais complexas do que aquelas que o estilo
tradicional de elaborao de polticas pblicas e de planeja-
mento governamental homogeneizador, uniformizador, cen-
tralizador, tecnocrtico, tpico do Estado que herdamos pode
absorver
16
.
No Brasil, a maneira como tradicionalmente se definiam e
caracterizavam os problemas que o Estado deveria tratar ficava
16
H muitos trabalhos de pesquisadores latino-americanos que descrevem as ca-
ractersticas que foram impregnando a gesto pblica (que configuram o que
denomino Estado herdado) e que apontam propostas para sua modificao.
Entre eles, Oszlak (1999), Evans (2003) e Waissbluth (2002, 2003 e 2008).
390
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
restrita ao que a orientao ideolgica e o pensamento poltico
conservador dominante eram capazes de visualizar. No que res-
peita gesto, vale destacar que o entendimento dos problemas
pblicos estava constrangida por um modelo explicativo que, de
um lado, tendia quase monocausalidade e, de outro, a solues
genricas, universais. Esse procedimento quase esquizofrnico le-
vou adoo de um padro nico do tipo causa-problema-solu-
o no qual, embora fosse percebida certa especificidade nos pro-
blemas enfrentados, o fato de que, segundo o modelo explicativo
adotado, sua causa bsica era a mesma terminava conduzindo
proposio de uma mesma soluo.
O governo no apenas filtrava as demandas da sociedade
com um vis conservador e elitista; ele adotava uma maneira
tecnoburocrtica para trat-las que levava sua uniformizao,
ao seu enquadramento num formato genrico que, verdade,
facilitava o tratamento administrativo. Ao faz-lo, escondia sob
um manto de aparente equidade os procedimentos de contro-
le poltico e assegurava a docilidade do povo, desprotegido e
desprovido de cidadania, frente ao burocratismo onipotente do
Estado
17
. Era na fila do INPS que o povo aprendia o que era a
democracia
18
.
As caractersticas do Estado herdado faziam com que as
demandas da populao se tornassem assuntos genricos, nacio-
nais, a serem resolvidos mediante a distribuio dos recursos
arrecadados de forma centralizada. Assim, sem nenhuma preo-
cupao com a elaborao de polticas apropriadas, os recursos
fluam atravs de uma complexa rede de influncias e favores at
17
Uma retrospectiva de como se deu, ao longo do nosso processo de desenvol-
vimento socioeconmico, a relao entre o Estado e os interesses das classes
dirigentes e subordinadas apresentada por Bresser-Pereira (2007).
18
Guillermo ODonnell (2008), em trabalho com o sugestivo nome de Algu-
mas reflexes sobre a democracia, o Estado e suas mltiplas caras, aborda
magistralmente este tema.
391
Renato Dagnino
os lderes polticos locais, que, discricionariamente e seguindo os
procedimentos sancionados pelo patrimonialismo e pelos outros
ismos que ele desencadeou no nosso ambiente (Costa, 2006), os
transformavam em benesses com que atendiam s suas clientelas
urbanas e aos seus currais do interior do Pas.
Essa situao perpetuava e retroalimentava um modelo de
gesto governamental e de elaborao de polticas que era no
apenas injusto e genrico; era, tambm, quando empregado por
gestores bem-intencionados, incuo, uma vez que as verdadeiras
causas ou no eram visualizadas ou no podiam ser enfrentadas.
Este modelo consolidado objetivos, instrumentos, procedimen-
tos, agentes, tempos , alm de incremental, assistemtico e pou-
co racional tendia a gerar polticas que eram facilmente captura-
das pelos interesses das elites.
As demandas que o processo de democratizao poltica
cada vez mais coloca, e que tendero a ser filtradas com um vis
progressista por uma estrutura que deve rapidamente se aproxi-
mar do Estado necessrio, originaro outro tipo de agenda po-
ltica. Sero muito distintos os problemas que a integraro e tero
que ser processados por este Estado em transformao. Eles no
sero mais abstratos e genricos, sero concretos e especficos,
conforme sejam apontados pela populao que os sente, de acor-
do com sua prpria percepo da realidade, com seu repertrio
cultural, com sua experincia de vida, frequentemente de muito
sofrimento e justa revolta.
Construir o Estado necessrio no ser somente difcil.
uma tarefa que, para ser bem-sucedida, deveria contar a priori
com algo que j deveria estar disponvel, mas que , ao mesmo
tempo, seu objetivo criar; isto , as capacidades e habilidades de
gesto extremamente complexas necessrias para transformar o
Estado herdado.
Assim colocado, o problema pode parecer sem soluo.
Mas, no obstante, ela existe. E existe porque j h a conscincia
392
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
da necessidade da construo do Estado necessrio. E quando
existe esta conscincia porque a soluo j vislumbrada por
uma parte dos atores envolvidos com o problema.
As discusses em curso e as aes de capacitao de ges-
tores no mbito do Estado e da universidade pblica remetem
a uma conscincia por parte desses atores da emergncia da
forma institucional que aqui denomino Estado necessrio.
Elas revelam a percepo de que rotinas administrativas que
do margem ao clientelismo, iniquidade, injustia, corrup-
o e ineficincia, que restringem os resultados obtidos com a
ao de governo, que frustram a populao e solapam a base de
apoio poltico, dificultando a governabilidade, no podem ser
toleradas. E que, para que isto ocorra, no bastam o compro-
misso com a democracia, o desejo de um futuro mais justo, o
ativismo e a militncia.
tarefa da universidade pblica exercer papel central na
criao de condies para que os gestores pblicos materializem
esse compromisso. imprescindvel que um novo tipo de conhe-
cimento terico e prtico acerca de como governar (para a po-
pulao e em conjunto com ela) seja urgentemente disponibiliza-
do. E atravs dele que uma nova cultura institucional ser criada
para alavancar a construo do Estado necessrio.
O cenrio atual demanda do gestor pblico um marco de
referncia analtico-conceitual, metodologias de trabalho e pro-
cedimentos qualitativamente muito diferentes daqueles que se en-
contram disponveis no meio em que ele atua. O contedo a ser
incorporado s polticas, fruto de um vis no mais conservador
e sim progressista, transformador, ir demandar um processo sis-
temtico de capacitao.
Para darmos uma ideia do desafio cognitivo que isto signi-
fica, vale lembrar que a forma como se d a determinao do que
so problemas e o que so solues, o que so causas e o que so
efeitos, o que so riscos e o que so oportunidades, enviesada
393
Renato Dagnino
pela relao de foras polticas vigente. Isso porque, em muitos
casos, ela ter que ser invertida.
Estamos vivendo um momento da democratizao polti-
ca em que as duas pontas da gesto pblica e do processo de
elaborao de polticas esto sofrendo uma rpida transforma-
o. Na sua ponta inicial a veiculao da demanda , h cla-
ramente maior probabilidade de que assuntos submersos e de
grande importncia para a populao passem a integrar a agenda
de deciso poltica. Na sua ponta terminal a deciso de onde
alocar recursos , existe igualmente uma grande probabilidade
de que problemas originais passem a ter sua soluo viabilizada.
Como tratar essas novas demandas at transform-las em proble-
mas que efetivamente entrem na agenda decisria? Como fazer
com que o momento da implementao da poltica (que se segue
ao da formulao) possa contar com um plano para sua operacio-
nalizao eficaz, que maximize o impacto favorvel dos recursos
cuja alocao pode ser agora localmente decidida de forma rpi-
da, mediante instrumentos inovadores e transformadores, como
o caso do Oramento Participativo?
modelizando: o privado, o pblico, o social e o governamental
nos planos da realidade e da gesto
Numa perspectiva descritiva, a observao do movimen-
to privado versus pblico no perodo mais recente que sucede
hegemonia do neoliberalismo indica que os atores privados vm
mantendo (ainda que, ao que parece, com menos intensidade) sua
capacidade de orientar as polticas pblicas para o atendimento
de suas reivindicaes. E, ademais, que eles ainda esto conse-
guindo impor, em parte por default, mtodos de gesto priva-
da poro do Estado que atende diretamente aos seus projetos
polticos. E, provavelmente em menor medida, ainda que pela
mesma razo, que continuam conseguindo que o Estado conceba
394
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
e empregue arranjos para o atendimento das necessidades sociais
coerentes com seus interesses
19
.
Numa perspectiva normativa, essa observao deriva na
percepo, fundada nos ideais democrticos e republicanos dos
servidores pblicos, de que essa tendncia deve ser acompanhada
por outra simtrica. E que esta, embora deva ser construda, no
mbito poltico, pelos movimentos sociais, ter que ser secun-
dada de um esforo, no mbito do aparelho de Estado, daqueles
gestores que compartilham os ideais de servir ao pblico. Esforo
este que contm um desafio terico que implica um decidido en-
gajamento da universidade pblica para tornar possvel a capaci-
tao desses gestores.
A ateno ao campo da Gesto Social que se iniciou h
pouco mais de uma dcada segue hoje presente na universidade
pblica como uma forma de enfrentar a excluso e atender de-
manda dos movimentos sociais atravs da docncia, da pesquisa
e da extenso. Soma-se e essa ao focalizada no segundo polo
do processo contraditrio de democratizao versus excluso so-
cial outra um pouco mais recente, associada ao primeiro polo
da democratizao. Mais especificamente, ao espao pblico (ou,
mais precisamente, governamental) que integra esse polo. Entre
os resultados dessa ao, h que destacar a retomada da preo-
cupao da universidade pblica com a Gesto Pblica que ha-
19
Sem o objetivo de detalhar ou polemizar, mas apenas a ttulo de exemplo,
menciono o programa de construo de habitaes implantado pelo atual
governo. Apesar do fato conhecido de que mais da metade das moradias
existentes no Pas serem construdas pelos seus moradores, ele se utiliza
dos instrumentos tradicionais de contratao e construo que beneficiam
fortemente atores privados. O considervel impacto positivo que poderia
desencadear em termos de gerao de trabalho e renda e a existncia de
tecnologias construtivas e de arranjos organizativos e produtivos baseados
em empreendimentos solidrios sugerem que a concepo desse programa
esteve subordinada defesa de interesses privados.
395
Renato Dagnino
via arrefecido consideravelmente e, em alguns casos (como o da
UFBA), praticamente sido abandonada na dcada de 1990.
A democratizao do Pas abriu uma nova oportunidade e
colocou um novo desafio. Passada a onda neoliberal e a hegemo-
nia do New Public Management, o Estado brasileiro inicia um
processo de mudana e, recuperando-se da atrofia imposta pela
conjuntura anterior
20
, busca se tornar mais permevel aos movi-
mentos sociais e s suas demandas. O fato de se abrir para os ges-
tores governamentais a possibilidade de incidir sobre o primeiro
polo daquele processo (o da democratizao), democratizando
seu espao de atuao, parece ter refletido no ambiente universi-
trio entre os interessados na GP, na GS e nas suas interfaces.
Superpondo-se quele processo, ainda que de modo no in-
dependente, existe na sociedade brasileira um outro, tambm con-
traditrio. Ele se caracteriza por um movimento que segue am-
pliando o espao do privado e de outro que se contrape visando
ampliao do espao do que pblico, entendido este no apenas
com o que estatal ou governamental, mas, tambm, o que
entendido como social. Talvez mais do que o primeiro, esse pro-
cesso demanda um esforo cognitivo de interpretao que d conta
da oposio privado versus pblico que ele abarca. E, tambm, no
mbito da gesto e da formao de gestores, de uma revisitao de
contedos, como aquela que este trabalho busca fazer, que permita
20
Ao contrrio do que os defensores da Reforma Gerencial querem fazer crer,
nosso pas possui uma muito baixa proporo de servidores pblicos na po-
pulao economicamente ativa. Segundo a OECD, ela (incluindo adminis-
trao direta, indireta e empresas estatais) de 10,7%, quando em nossos
vizinhos, como a Argentina, de 16,2%. Em nosso modelo, os Estados
Unidos, de 14,8%. Em nossos colegas emergentes, como ndia, de 68,1%.
Naqueles pases que nos tm sido apontados como exemplos de capitalismo
bem-sucedido, como a Dinamarca, de 39%. Se levarmos em conta o fato
que se apresenta do Estado brasileiro, do no atendimento das necessidades
da maioria da populao, e a hoje consensual deciso de ele seja corrigido,
fica ainda mais evidente a necessidade de ampli-lo.
396
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
um tratamento orgnico dos problemas que emergem desses dois
processos. Por demandar uma diferenciao entre a Gesto Pbli-
ca e a Gesto Social, ele tratado com algum detalhe a seguir.
As modificaes pelas quais vem passando o Pas esto con-
figurando um novo espao em ambos os polos do processo con-
traditrio de democratizao versus excluso social o espao do
social , o que torna necessrio um esforo cognitivo para identi-
ficar (descrever e explicar), no plano da realidade referente ao
espao pblico, esse novo espao que neste plano se vai delinean-
do e desfazendo a identidade at h algum tempo completa entre
o pblico e o governamental. Em sees anteriores deste trabalho
se trata de alguns dos aspectos necessrios para tanto.
No que se refere ao procedimento de modelizao que enfo-
ca este item, aquilo que vem ocorrendo no plano da realidade
ser aqui mostrado por meio de duas figuras. A primeira (Figura
4) mostra a atualizao que, no plano da gesto, parece ser a
que decorre do contexto interpretativo das relaes entre GS e
GP contido na literatura que foi analisada. A segunda (Figura 5)
mostra a atualizao que resume a proposta desenvolvida neste
trabalho.
Na Figura 4, aparece no plano da realidade uma inter-
seco entre os espaos privado, pblico e social. O que d a
entender o modo como se percebe a configurao atual desses
espaos, coerente com o que aqui se denomina Estado herda-
do. A Figura 4 retrata um processo em tudo semelhante, ainda
que concernente a uma nova etapa de desenvolvimento do capi-
talismo, quele que se tratou no item que precede a estilizao
apresentada na Figura 2. So tambm vetores polticos, sociais,
econmicos e ideolgicos, semelhantes aos que deram origem
configurao clssica do capitalismo os que, aqui inseridos num
processo de coorganizao com as caractersticas prprias do
iderio neoliberal e da reforma gerencial, originam a configura-
o mostrada na Figura 4 no plano da realidade.
397
Renato Dagnino
Ali se mostra a considervel interseco entre os trs espa-
os com ela coerente. Apenas a ttulo de exemplo, pode-se su-
gerir que a interseco dos trs espaos seria o lcus das aes
de responsabilidade social empresarial que, como usual, so
realizadas a partir de recursos pblicos obtidos atravs da via
renncia fiscal.
A Figura 5 apresenta, no plano da realidade, uma modifi-
cao. Embora siga aparecendo uma interseco entre os espaos
privado e pblico e social, ela bem menor. E o espao pblico
entendido como uma unio do espao social com o governa-
mental
21
. Diminuiria sensivelmente a interseco entre o espao
privado e o pblico, que estaria quase que restrita interseco
entre o espao privado e o social, correspondente quelas em-
presas que, movidas por um esprito antagnico a sua natureza,
atuam visando incluso social atravs de aes de responsa-
bilidade social empresarial; o que procura dar a entender outra
percepo acerca da configurao atual desses espaos, coerente
com o que aqui se denomina processo de transio do Estado
herdado para o Estado necessrio. A qual idealmente supe
um movimento que recoloca no mbito do Estado a responsabili-
dade pelas aes orientadas satisfao das necessidades sociais
e que implica uma decidida ao no espao governamental.
Neste caso, as aes realizadas no espao pblico estariam
menos dependentes das empresas, uma vez que empreendimentos
solidrios, formados a partir de um processo contra-hegemnico
de transformao da economia informal numa Economia Solid-
ria que evite a incluso dos trabalhadores que ali hoje sobrevi-
vem economia formal, seriam os responsveis pela produo de
21
A vasta e rica contribuio que vem sendo realizada pelos pesquisadores da
Economia, Sociologia, Administrao, Cincia Poltica acerca da emergn-
cia do social e da sua crescente individualizao no cenrio brasileiro po-
deria ser explorada para fundamentar o que mostra o plano da realidade
da Figura 5. Por razes compreensveis, isso no feito aqui.
398
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
bens e servios de uso coletivo (pblico ou social) hoje realizada
mediante a alocao de recursos pblicos e a utilizao do poder
de compra do Estado. Ao mesmo tempo em que aumentaria a in-
terseco entre o espao social, diminuiria, assim, aquela relativa
ao espao governamental. A interseco dos espaos privado e p-
blico estaria limitada quelas aes, pertencentes ao mbito gover-
namental ou social que, embora sejam hoje a maioria, no possam
ser realizadas com o concurso dos empreendimentos solidrios.
No plano da gesto, a Figura 4 mostra a projeo que
nele determinariam as aes situadas no plano da realidade.
Aqueles vetores acima referidos, transduzidos mediante um
processo de coorganizao que possui, ademais, aspectos cog-
nitivos tpicos de ambientes profissionais situados no interior do
Estado e da universidade, mas tambm orientados pela vertente
neoliberal, seriam os responsveis pela configurao apresentada
no plano da gesto.
Figura 4
399
Renato Dagnino
Teria sido aquele processo e essa transduo os responsveis
pela ideia bastante difundida, pertencente ao contexto interpre-
tativo ao que se fez referncia inicialmente, de que o conceito de
GS no apenas abarcaria o espao do Pblico e do Privado como
seria compatvel com os seus ethos e com os interesses dos atores
que neles exercem sua ao; ideia esta que embasa a proposta de
que a GS estaria estreitamente relacionada com a Gesto Privada
pode ser entendida como uma extenso de uma outra mais co-
mum e central na proposta da reforma gerencial: a de que caberia
aos gestores pblicos e aos pesquisadores e professores de Admi-
nistrao Geral a incorporao dos princpios que orientam a
gesto do espao privado a Administrao de Empresas ao
que at ento era entendido como a Gesto Pblica.
A observao daquele contexto interpretativo indica uma
postura inovadora, empreendedora, avant la lettre, ou mais-
realista -do-que-o-rei, da comunidade formada por aqueles ato-
res, sempre atenta s tendncias mundiais e ansiosa por transp-
las, s vezes de forma acrtica, ao nosso ambiente; alguns deles,
diga-se de passagem, de modo francamente contraditrio com
suas intenes polticas e convices ideolgicas. Preocupados
em no parecer retrgrados ou saudosistas, eles terminaram san-
cionando projetos polticos contrrios aos seus interesses e ali-
nhando-se com agendas de atuao, pesquisa ou docncia que
hoje se mostram crescentemente disfuncionais em relao ao ce-
nrio de democratizao em curso.
Essa observao sugere que parece ter havido mais preocu-
pao em criar, no plano da gesto, o campo da Gesto Social
do que precisar a fronteira que, no plano da realidade, separa
o privado do social e delimit-lo no interior do espao p-
blico. O que parece ter ocorrido no plano da gesto foi o que
o Pensamento Complexo alude (e aconselha): a identificao dos
componentes de um sistema no pelas fronteiras que os separam
e excluem, e sim pelas dinmicas que os animam embora essa
400
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
separao, por ser nada mais do que um modelo heurstico para
entender uma realidade complexa, no deva ser transposta para
modelizar o plano da realidade: o que nele ocorre possui vigo-
rosas e bem conhecidas determinaes polticas e socioeconmi-
cas, nacionais e mundiais.
Figura 5
O mostrado no Plano da gesto da Figura 5 resulta de
uma inteno de interpretar a realidade para atuar sobre ela e do
grau maior de definio que, por funo, a ela inerente. Ali o
espao pblico se projeta, no plano da gesto, em dois subcam-
pos: o da Gesto Social e o da Gesto Governamental. Os dois
espaos que se esto individualizando no plano da realidade
governamental e social e a esperada expanso, agora no mais
viciosa, mas virtuosa deste ltimo j esto fazendo emergir, no
401
Renato Dagnino
plano da gesto, um movimento de coorganizao e transdu-
o simtrico ao anterior. Lembrando o que se indicou em itens
anteriores a esta seo, esse movimento, cuja responsabilidade
recai sobre aquela comunidade recm-nomeada, um elemen-
to cognitivo indispensvel para o trnsito do Estado herdado
para o Estado necessrio.
Na figura, o campo da Gesto Pblica aparece denotado qua-
se que como uma unio de dois conjuntos com contornos evidente-
mente difusos. Isto , o subcampo da Gesto Social com aquele
conjunto que resulta da excluso da interseco do campo da Ges-
to Privada com o subcampo da Gesto Governamental.
Em que pese a sua precariedade, acredito que essa tentativa
de modelizao possa vir a ajudar no entendimento das interfa-
ces, delimitaes entre a GP e a GS. E, inclusive, para chamar a
ateno para situaes como a que se verifica no plano da reali-
dade, em que, por exemplo, o Estado segue transferindo recur-
sos para ONGs e para empresas atravs de renncia fiscal para
implementar e at para formular polticas sociais. E tambm para
as que ocorrem no plano da gesto, em que arranjos institucio-
nais concebidos para a gesto do social, como o Oramento
Participativo, comeam a contaminar reas de poltica pblica
at h pouco capturadas pelos interesses privados e empresariais
e geridas segundo a racionalidade por eles imposta.
E, em consequncia, como uma espcie de ponte cogni-
tiva que liga esses dois perfis, concebida em funo de minha
experincia e nos valores e interesses que devem ser privilegia-
dos no ambiente da universidade pblica brasileira contempo-
rnea, os contedos, habilidades etc. que considero pertinen-
tes. As caractersticas dessa ponte cognitiva esto, por isso,
fortemente influenciadas pelas restries e oportunidades que
marcam a realidade brasileira atual abarcada, no que respeita
s atividades de gesto que elas implicam, pela Gesto Social e
a Gesto Pblica.
402
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
consideraes finais
O esforo de escrita deste trabalho teve um resultado parale-
lo (como j dito, no buscado ou alcanado on the job) no campo
metodolgico que talvez possa servir como uma referncia con-
cepo de um quadro sistmico para descrever, explicar e pres-
crever as relaes que se verificam no plano da realidade e no
plano da gesto entre os elementos que se posicionam no mbi-
to das interfaces e delimitaes. A obteno desse resultado (ou
a aplicao do procedimento metodolgico) permitiu descrever
e explicar as esferas do privado, do pblico e do social (ou, como
argumento, do privado, do governamental e do social) que se si-
tuam no plano da realidade e projet-lo de modo descritivo-
explicativo, mas tambm normativo, no plano da gesto, indivi-
dualizando esferas de Gesto Privada, Pblica e Social (ou, como
argumento, Gesto Privada, Governamental e Social).
minha percepo que o aprimoramento desse procedi-
mento metodolgico pode ser til na tarefa de formar gestores
pblicos (governamentais e sociais) capazes de ajudar na constru-
o de uma sociedade mais justa, igualitria e ambientalmente
sustentvel.
Dado que a conceituao de GS que se prope neste traba-
lho distinta da adotada em outros crculos, inicio esta seo por
este ponto, apontando mais precisamente as distines e justifi-
cando a minha proposta. Para tanto, me refiro a um dos autores
que mais se tem dedicado a precis-la.
Segundo Tenrio (2000, p. 114 e ss.), a GS (...) deve aten-
der, por meio da esfera pblica, o bem comum da sociedade
mediante processos decisrios participativos, dialgicos basea-
dos na racionalidade comunicativa por contraposio Gesto
Estratgica. Nesta, o sistema-empresa determina as suas condi-
es de funcionamento e o Estado se impe sobre a sociedade,
mediante uma ao estratgica (por oposio ao comu-
403
Renato Dagnino
nicativa) utilitarista, hierrquica, tecnoburocrtica. O tipo de
gesto que se contraporia GS estaria ento associado (...)
ao social implementada sob a hegemonia do poder tcnico ou
tecnoburocrtico, que se manifesta tanto no setor pblico quanto
no privado; fenmeno comum s sociedades contemporneas.
No primeiro trecho, de natureza descritiva, ao escrever que
a GS (...) deve atender, por meio da esfera pblica (...), o autor
pode estar querendo dar a entender que ela estaria relacionada
a aes realizadas no plano da realidade pelo Estado. Mas
pode tambm querer indicar que a GS seria uma atribuio do
Estado, no plano da gesto, referida a aes realizadas por
outros atores (empresas, ONGs, movimentos sociais etc.). No
segundo, de natureza normativa, ao dizer que a Gesto Estrat-
gica (...) se manifesta tanto no setor pblico quanto no privado
(...), ele pode estar querendo dar a entender que a GS, tal como
aquela qual se contrape, pode se manifestar tambm no
setor privado.
Enquanto que a proposta que fao pudesse concordar com
o primeiro trecho, dificilmente poderia faz-lo, at onde pos-
svel entender o significado do verbo manifestar em relao ao
segundo.
Com o mesmo objetivo de explicitar diferenas conceituais
e de, eventualmente, suscitar uma explicao, abordo um outro
plano, aquele relativo ao ambiente de consenso que caracterizaria
aquele demarcado pela GS. Nele, Tenrio (2009), ao relatar a sua
experincia com o tema da GS, a entende como um (...) processo
gerencial dialgico no qual a autoridade decisria comparti-
lhada entre os participantes da ao (ao que possa ocorrer em
qualquer tipo de sistema social pblico, privado ou de organi-
zaes no governamentais). Ele prope mais adiante que (...) o
adjetivo social qualificando o substantivo gesto ser entendido
como o espao privilegiado de relaes sociais onde todos tm o
direito fala, sem nenhum tipo de coao.
404
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
No primeiro trecho, o autor parece admitir implicitamente
que pode ocorrer num sistema privado (entenda-se, uma em-
presa privada) uma situao em que um trabalhador possa com-
partilhar com o patro alguma autoridade decisria no m-
bito de um processo gerencial dialgico. No segundo, ele d a
entender que num sistema como esse poderia deixar de existir
qualquer tipo de coao. Novamente nesse caso, haja vista os
contedos tericos apresentados nas sees precedentes acerca da
natureza das relaes entre a sociedade e o Estado capitalista,
difcil aceitar a conceituao proposta pelo autor.
Ainda no relato da sua experincia que transcrevi na se-
gunda seo, Tenrio (2009) escreve que o importante no
diferenciar gesto pblica de gesto social, mas resgatar a funo
bsica da administrao pblica, que atender os interesses da
sociedade como um todo. Por tambm no concordar, pela mes-
ma razo acima referida, que seja esta a funo da administrao
pblica, fica difcil aceitar que no seja importante diferenciar
entre GP e GS.
Finalmente, ao expressar que O conceito de gesto social
seria desnecessrio se tanto o agente pblico como o econmi-
co praticassem uma gesto republicana: uma gesto preocupada
com a justia social, com o interesse pelo bem comum e no com
interesses privados, o autor leva seu esforo conceitual a uma
crtica indireta e desfocada, ainda que bem intencionada no
ao capitalismo (ou o que parece perceber como sendo o neolibe-
ralismo), mas quilo que este, por ser como , impossibilita. Ao
colocar a GS como algo orientado para o bem comum, os diretos
de cidadania, a solidariedade, a harmonia, o republicanismo, a
participao, a autonomia etc. (numa palavra, para a valorizao
do social frente ao privado e ao que denomina estatal), ele che-
ga a uma concluso surpreendente. De fato, no seria necessrio
um estilo de gesto como o que a GS prope se aqueles que per-
sonificam, no interior da empresa e do Estado, a explorao e a
405
Renato Dagnino
coero que o capitalismo legitima e naturaliza atuassem de for-
ma oposta quela como atuam. Isto , respeitando os preceitos
republicanos, promovendo a justia social, o bem comum etc. Ao
no esclarecer que aquela valorizao obstaculizada pelo anta-
gonismo inerente ao capitalismo e que teria que estar associada
com anterioridade ou em paralelo a sua alterao, o tom de
quase-denncia que adota no suficiente para desfazer o sabor
do que parece ser uma simples petio de princpio.
Em sntese: o resultado principal do meu percurso de envol-
vimento e entendimento acerca do tema aqui tratado a propo-
sio de que a GS uma parte constitutiva da GP, sendo a GG a
outra. E que Gesto Privada, por seu turno, deve ser entendida
como um conjunto formado pela gesto dos negcios da empre-
sa, desde logo, e da gesto dos negcios que ela possui com o
Estado; inclusive daqueles cujo objetivo se relaciona implemen-
tao, formulao e avaliao das polticas sociais.
Ele leva a duas concluses. A primeira, um tanto arriscada,
a de que a discusso acerca das interfaces e delimitaes refe-
rentes GP e GS careceria de sentido, uma vez que precis-las
quando um conjunto contm o outro pouco produtivo. Mas
esta concluso , sobretudo, incua, uma vez que o entendimento
da GP e da GS como conjuntos, e no da segunda como um sub-
conjunto contido na primeira, est solidamente estabelecido.
A segunda concluso no semntica ou meramente aca-
dmica; ela pode ter importantes implicaes em termos da
agenda de pesquisa e de ensino da universidade pblica. A pro-
posio de que a GP um conjunto que, alm de disjunto em
relao Gesto Privada, composto apenas por outros dois a
GS e a GG implica, por um lado, um distanciamento (crti-
co, inclusive) dessa agenda daquela usualmente explorada pela
rea de Administrao (em particular pela de Administrao de
Empresas ou de Negcios, o que ente ns est sendo conhecido
como Business Administration). Implica, por outro lado, que a
406
Gesto Social e Gesto Pblica: interfaces, delimitaes e uma proposta
formao de gestores pblicos, que em funo do que se enfati-
za neste trabalho tender a ganhar considervel impulso, dever
ocorrer de modo integrado. Isto , individualizando e ao mesmo
tempo integrando, no mbito da GP, a GS e a GG.
Esse resultado suscita imediatamente uma pergunta: quem
(e como) formar os profissionais (evito cham-los de gestores
para evitar confuso) que, em empresas e em organizaes do
terceiro setor, devero atuar na implementao das polticas
sociais formuladas pelo Estado? E os profissionais que, nas em-
presas, esto envolvidos com aes de responsabilidade social
empresarial e que participam nas decises acerca de como elas
devero utilizar os recursos oriundos de renncia fiscal ou de
outra natureza?
A essas perguntas podem ser oferecidos dois tipos de res-
posta. Ambos podem ser formulados inicialmente em forma de
pergunta. O primeiro se relaciona natureza do conhecimento
que necessitam esses profissionais, e o segundo, a quem, dentro
do universo das instituies de ensino superior brasileiro, caberia
a funo de form-los?
Considero que uma resposta a elas teria que estar balizada,
por um lado, pela premncia do desafio de capacitar gestores
pblicos, que devero estar desde o incio de sua formao con-
taminados pelos valores do pblico e, por outro, pelo grande
nmero de escolas de Administrao existentes no setor privado
de nosso ensino superior. Com base nisso, diria de modo aca-
ciano (e quase rimando) que as universidades pblicas devero
concentrar-se decididamente na formao dos gestores pblicos,
e que os destinados a gerir os negcios privados devero ser for-
mados nas universidades privadas.
407
a economia solidria no Governo federal
1
Paul Singer
origem da secretaria nacional de economia solidria
Em junho de 2003, o Congresso Nacional aprovou projeto
de lei do presidente Lula, criando no Ministrio do Trabalho e
Emprego (MTE) a Secretaria Nacional de Economia Solidria
(Senaes). Dessa forma, o Estado brasileiro reconheceu um pro-
cesso de transformao social em curso, provocado pela ampla
crise do trabalho que vem assolando o pas desde os anos 1980.
A desindustrializao, suscitando a perda de milhes de postos
de trabalho, a abertura do mercado, acirrando a competio glo-
bal e o desassalariamento em massa, o desemprego macio e de
longa durao, causando a precarizao das relaes de trabalho
tudo isso vem afetando grande nmero de pases.
Como defesa contra a excluso social e a queda na indign-
cia, as vtimas da crise buscam sua insero na produo social
atravs de variadas formas de trabalho autnomo, individuais e
coletivas. Quando coletivas, elas optam, quase sempre, pela au-
togesto, ou seja, pela administrao participativa, democrtica,
1
Publicado na Revista do Ipea Mercado de Trabalho, agosto de 2004.
408
A Economia Solidria no Governo Federal
dos empreendimentos. So estes os que constituem a Economia
Solidria.
Mudanas como estas se registram em muitos pases. No
Brasil, assumiram propores notveis, a ponto de tornar a Eco-
nomia Solidria uma opo adotada por movimentos sociais e
importantes entidades da sociedade civil, como Igreja, sindicatos,
universidades e partidos polticos. Na passagem do sculo, polti-
cas pblicas de fomento e apoio Economia Solidria foram ado-
tadas por muitas municipalidades e alguns governos estaduais.
Com a eleio de Lula presidncia, entidades e empreen-
dimentos do campo da Economia Solidria resolveram solicitar
ao futuro mandatrio a criao de uma secretaria nacional de
Economia Solidria no MTE. Explica-se a opo pelo MTE pe-
los estreitos laos polticos e ideolgicos que ligam a Economia
Solidria ao movimento operrio. A demanda dos movimentos
foi bem acolhida pelo ento ministro Jacques Wagner, que mui-
to contribuiu para que a Senaes pudesse se instalar e se entrosar
com as outras secretarias que compem o MTE.
Convm lembrar que o MTE, desde sua criao, tem tido
por misso proteger os direitos dos assalariados. Os interesses
dos trabalhadores no formalmente assalariados no figuravam
com destaque na agenda do ministrio. Por isso, o surgimento
da Senaes representou uma ampliao significativa do mbito de
responsabilidades do MTE, que passa a incluir o cooperativismo
e associativismo urbano (j que pelo rural continua responsvel
o Ministrio da Agricultura.
construindo uma poltica participativa
A Senaes entende que sua misso difundir e fomentar a
Economia Solidria em todo o Brasil, dando apoio poltico e ma-
terial s iniciativas do Frum Brasileiro de Economia Solidria
(FBES). Esse frum inclui as principais agncias de fomento da
409
Paul Singer
Economia Solidria, a rede de gestores municipais e estaduais de
Economia Solidria, a Associao Brasileira de Gestores de En-
tidades de Micro-Crdito (Abcred) e as principais associaes e
redes de empreendimentos solidrios de todo o pas.
O FBES descentralizou sua atividade, organizando fruns
estaduais de Economia Solidria na maioria das unidades da
federao. A Senaes organizou visitas a todos os Estados, para
levar seu programa Economia Solidria em Desenvolvimento
tanto s Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) como aos f-
runs estaduais. Dessa forma, fruns e DRTs comearam a com-
binar esforos no fomento e divulgao da Economia Solidria
nos Estados.
Mais recentemente, cada DRT designou uma funcionria
ou funcionrio para responder pelas atividades em prol da Eco-
nomia Solidria. Esses servidores esto recebendo formao em
Economia Solidria, de forma sistemtica, pela Senaes.
A Senaes s passou a ter dotao oramentria a partir
deste ano, pois comeou a funcionar apenas em meados do ano
passado. Decidimos empregar os recursos em diferentes proje-
tos: vrias prefeituras pediram recursos para construir Centros
de Referncia de Economia Solidria, para a comercializao de
produtos de empreendimentos solidrios e para a realizao de
encontros, seminrios e cursos etc.; numerosos pedidos de apoio
a feiras e construo de centros de comercializao vieram de
agncia de fomento, fruns estaduais e redes de empreendimen-
tos; pedidos de apoio ao mapeamento da Economia Solidria em
estados e em regies de estados, a seminrios e encontros e cria-
o de cooperativas tambm chegaram Senaes.
Com exceo de uns poucos pedidos que claramente exce-
diam a disponibilidade de fundos da Senaes, todos os outros pro-
jetos foram apoiados em alguma medida. Como no havia prece-
dentes, o exame de quase 200 projetos foi utilizado para firmar
critrios bsicos de avaliao, com toda a equipe participando de
410
A Economia Solidria no Governo Federal
sua formulao. Nas decises polticas que definem as linhas de
atuao da Senaes, todos os membros da equipe participam. Essa
norma aproxima a gesto dela do modelo autogestionrio, alm
de dar oportunidade aos integrantes de se informar sobre as ati-
vidades da Senaes e de opinar sobre as opes em debate. As con-
tribuies dos membros da Senaes tm sido vitais para a adoo
de polticas coerentes com os princpios da Economia Solidria e
adequadas realidade socioeconmica em que pretendem incidir.
a economia solidria no combate precarizao das
condies de trabalho
A resposta mais frequente crise do trabalho, por parte das
pessoas atingidas, tem sido a formao de cooperativas de tra-
balho, para, mediante ajuda mtua, gerar trabalho e renda para
cada membro. Ao mesmo tempo, empregadores pouco escrupu-
losos utilizam falsas cooperativas de trabalho para deixar de pa-
gar os encargos trabalhistas, aproveitando-se do fato de que esses
encargos no so cobrados de quem contrata trabalho autnomo
(a lei considera o cooperador trabalhador autnomo). Alm dis-
so, cooperativas autnticas, na nsia de conseguir contratos, re-
baixam seus preos a ponto de abrir mo de muitos dos direitos
sociais de seus associados.
A precarizao das relaes de trabalho no culpa das
cooperativas mas do desemprego em massa, que leva suas vti-
mas ao desespero, deixando-as dispostas a aceitar trabalho em
quase quaisquer condies de remunerao direta e indireta. A
degradao do trabalho no cessa de se agravar e, no extremo,
toma a forma de trabalho infantil e trabalho escravo. A Econo-
mia Solidria, aliada aos sindicatos e aos fiscais do MTE, luta
pela preservao dos direitos sociais e sua ampliao. Diversos
pases j adotaram legislao que obriga as cooperativas de tra-
balho e de produo a garantir aos membros o gozo de todos os
411
Paul Singer
seus direitos legais, tendo em vista precisamente evitar que as
formas cooperativas sejam usadas para agravar a espoliao de
trabalhadores.
A Senaes luta para que o Brasil adote a mesma legislao,
inclusive para que cooperativas autnticas de trabalho no sejam
confundidas com as falsas pela fiscalizao e pelo Ministrio P-
blico do Trabalho. Representantes da Senaes no Frum Nacional
do Trabalho tm sustentado a proposta, que est sendo tambm
debatida com os fiscais do trabalho nas DRTs. Ganha apoio na
magistratura do trabalho, no Ministrio Pblico do Trabalho e
tambm nas federaes de cooperativas de trabalho a ideia de
que precisamos de leis que garantam o direito de auto-organiza-
o dos trabalhadores em cooperativas e associaes, desde que
no possam ser usadas para privar os mesmos trabalhadores de
seus direitos legais.
o desenvolvimento solidrio como forma de combate
pobreza
A pobreza na maior parte das vezes condio social. A
falta de dinheiro obriga as pessoas a morar juntas onde o custo
de morar baixo, ou seja, em favelas, cortios ou na rua. A ne-
cessidade em que se encontram as famlias nessas comunidades
torna a prtica da ajuda mtua indispensvel sobrevivncia.
Assim sendo, combater a pobreza requer o desenvolvimento da
economia das comunidades pobres em seu conjunto, de modo a
beneficiar todos os integrantes. Esse desenvolvimento pode ser
induzido por agentes externos ONGs, igrejas, governos etc.
que mobilizam a comunidade, provocam a formulao de proje-
tos de novas atividades econmicas e/ou melhoria das j existen-
tes e ajudam em sua implementao.
Como seria de esperar, os projetos organizados por comu-
nidades pobres assumem quase sempre a forma da Economia
412
A Economia Solidria no Governo Federal
Solidria. A alternativa seria alguns membros da comunidade
assumirem o papel de capitalista e assalariar os demais. Como
ningum tem dinheiro, essa hiptese improvvel. Alm disso, a
ajuda mtua essencial ao esforo de gente desprovida de capi-
tal para melhorar sua situao social e econmica. O desenvol-
vimento que combate a pobreza solidrio e isso j vem sendo
comprovado na prtica em diversos lugares.
A Senaes est empenhada em promover o combate po-
breza mediante as oportunidades que o programa Fome Zero, a
reforma agrria e outras polticas sociais do governo oferecem.
Para tanto, diversos ministrios e secretarias do governo federal
esto juntando foras. Um ponto crucial o financiamento des-
sas iniciativas. O governo brasileiro est empenhado em reformas
do sistema financeiro que o abram s camadas de baixa renda,
que hoje esto excludas dele. Outra alternativa a criao de um
outro sistema financeiro solidrio, popular, comunitrio que
diferentes empreendimentos da Economia Solidria j esto de-
senvolvendo em vrias partes do Brasil.
413
a economia solidria no Governo federal:
intersetorialidade, transversalidade e
cooperao internacional
Maurcio Sard de Faria
Fbio Jos Bechara Sanchez
introduo
A Economia Solidria ganhou grande expresso e espao
social nas ltimas dcadas, dando azo a um vasto campo de ex-
perincias e iniciativas de produo e reproduo dos meios de
vida estruturados a partir da propriedade coletiva dos meios
de produo, da autogesto, da solidariedade e do coletivis-
mo. Esse desenvolvimento recente foi impulsionado pelas crises
do capitalismo, vivenciada de forma desigual e combinada tanto
no centro como na periferia do sistema e que afetou, com inten-
sidade e ritmos diferenciados, o conjunto da classe trabalhadora
com o crescimento do desemprego, do trabalho precrio e ataques
aos direitos sociais e trabalhistas arduamente conquistados.
Nessa conjuntura, a Economia Solidria apresentou-se
como alternativa, inicialmente a partir de um conjunto de expe-
rincias isoladas, mas que confluiu para articulaes nacionais,
iniciativas de formao de redes e cadeias produtivas, associaes
de segundo grau, entidades de representao, polticas pblicas
nas trs esferas de governo e, na ltima dcada, tambm buscou
articular-se no plano internacional.
414
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
De forma geral, a expresso Economia Solidria vem sen-
do utilizada para designar uma grande diversidade de atividades
econmicas organizadas a partir dos princpios de solidariedade,
cooperao e autogesto, seja pela recriao de prticas tradicio-
nais, seja pela emergncia de formas inovadoras. Trata-se de um
movimento que busca afirmar a sua identidade e plataforma de
luta e reivindicaes, que ganha flego e se estrutura em princ-
pios associados a valores humanistas, materializados na efetiva-
o de iniciativas econmicas solidrias de gerao de trabalho
e renda, instituies de assessoria e fomento e polticas pblicas
nas trs esferas de governo.
No Brasil, a diversidade da Economia Solidria abriga des-
de grupos informais de costura ou artesanato at grandes fbri-
cas recuperadas, passando tambm por cooperativas urbanas de
servios, cooperativas de agricultura familiar em assentamentos
da reforma agrria, organizaes de finanas solidrias, ou redes
e cadeias produtivas (mel, algodo, metalurgia etc.), entre outros.
Trata-se, fundamentalmente, de formas coletivas baseadas na co-
operao ativa entre seus membros, que buscam atravs da soli-
dariedade instituir iniciativas econmicas de gerao de trabalho
e renda nas reas urbanas e rurais.
Numa perspectiva histrica das lutas sociais no Brasil, po-
de-se sugerir que este campo heterogneo de experincias no
campo da Economia Solidria tambm parte e decorrncia do
processo de democratizao da sociedade brasileira, enquanto
movimento que possua como um dos pilares centrais a defesa
da participao da sociedade organizada nos rumos do pas.
A base concreta desse movimento resulta de um processo de
confluncia de vrias vertentes autonomistas ou comunitaris-
tas, como um vale para o qual convergiram vrios afluentes at
formarem um nico rio.
Dentre essas vertentes que formaram o campo da Economia
Solidria no Brasil, destacamos:
415
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
1. Uma das vertentes desse campo vem da experincia de
organizao sindical e das formas associativas de resistncia
dos/as trabalhadores/as brasileiros/as levadas adiante tanto no
meio urbano quanto no espao rural. As experincias de empre-
sas recuperadas e as associaes e cooperativas da agricultura
familiar encontram-se originariamente vinculadas a este cam-
po de lutas, mas dele diferem por irem alm das estratgias de
reivin dicao e luta por direitos nos marcos da diviso entre ca-
pital e trabalho, enfrentando diretamente a questo da produo
material de forma autogestionria; as associaes e cooperativas
dos assentamentos de reforma agrria derivam tambm desse
campo, como luta pela terra e estratgia de produo autnoma
dos meios de vida;
2. Converge para o mesmo campo a vertente do trabalho
comunitrio das igrejas, pastorais e instituies da sociedade ci-
vil no plano dos direitos e do apoio s formas de desenvolvimento
endgeno. Resulta da um imenso conjunto de experimentaes
no campo das organizaes comunitrias de produo, finanas
solidrias, formao e assessorias tcnicas para o desenvolvimen-
to local etc.;
3. Ainda que pouco estudada, deve-se considerar como ver-
tente da Economia Solidria as formas de organizao dos povos
indgenas, baseadas na propriedade comum do solo, formas com-
partilhadas de produo dos meios de vida e do cuidado coletivo
com as crianas. Do mesmo modo, deve-se considerar a influn-
cia africana que se materializou na organizao dos quilombos
e outras comunidades tradicionais, tambm resgatando formas
coletivas de produo da vida material e social;
4. Outro movimento foi o originado nas universidades e ins-
titutos federais de educao tecnolgica, que apoiaram prtica e
teoricamente para o desenvolvimento da Economia Solidria no
Brasil, em especial o movimento das Incubadoras Tecnolgicas
de Cooperativas Populares.
416
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
Nos ltimos anos, percebe-se um crescimento (ou desvela-
mento) de experincias de produo, consumo, distribuio ou
crdito que se organizam a partir dos princpios da autogesto,
do coletivismo, da solidariedade e da propriedade coletiva dos
meios de produo pelos prprios trabalhadores/as. Esse vasto
campo de experincias da Economia Solidria envolve ainda uma
pluralidade de entidades pblicas, organizaes da sociedade ci-
vil, setores do sindicalismo, universidades e, mais recentemente,
iniciativas de polticas pblicas nas diferentes esferas de governo
que apoiam as organizaes econmicas solidrias e contribuem
para sua expanso e fortalecimento.
A criao da Secretaria Nacional de Economia Solidria
(Senaes ), no mbito do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE),
possibilitou o desenvolvimento de polticas pblicas voltadas
para o fomento aos empreendimentos econmicos solidrios e
a sua incorporao na agenda pblica enquanto alternativa para
gerao de trabalho e renda e estratgia de desenvolvimento. Ao
mesmo tempo, estimulou para que diversos outros ministrios e
rgos pblicos introduzissem a Economia Solidria como eixo
estruturante transversal de polticas pblicas de gerao de renda
e combate pobreza extrema no Brasil.
Neste artigo, vamos apresentar, em linhas gerais, como se
deu a construo da poltica da Economia Solidria no mbi-
to do Ministrio do Trabalho e Emprego, durante o primeiro
governo Lula, e seus significados polticos. A partir desse qua-
dro, apresentaremos as principais aes e dilogos estabelecidos
pela Senaes com outras polticas pblicas setoriais, ou seja, pro-
curaremos retratar a intersetorialidade construda pela Poltica
de Economia Solidria no mbito do governo federal. Ao mes-
mo tempo, apontaremos algumas aes, programas de rgos
pblicos que incorporaram no mbito das prprias polticas o
tema da Economia Solidria como eixo estratgico, independen-
temente das relaes institucionais estabelecidas com a Senaes ,
417
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
o que aponta para o potencial transversal da Economia Soli-
dria no mbito das polticas pblicas. Trataremos brevemente
das articulaes estabelecidas pela Senaes no plano internacio-
nal, com ministrios e rgos pblicos de outros pases. Por fim,
teceremos alguns comentrios gerais sobre a construo destas
mltiplas relaes construdas pelas Senaes para projetar a Eco-
nomia Solidria como estratgia de desenvolvimento no mbito
do governo federal.
a economia solidria no Governo federal
No se trata aqui de apresentar um balano do conjunto
das aes da Senaes nos seus oito anos de existncia no gover-
no federal, dado o conjunto imenso de iniciativas e articulaes
realizadas nesse perodo. Tambm no abordaremos a execuo
financeira da Secretaria, cujo oramento foi acrescido pelas par-
cerias institucionais realizadas e pelas polticas desenvolvidas em
conjunto com outros ministrios e rgos pblicos.
Para o tema geral do artigo, que versa sobre as relaes e
polticas de Economia Solidria construdas de forma interseto-
rial e transversal e as relaes internacionais da Senaes , cabe-nos
tratar aqui da criao da Secretaria no mbito do Ministrio do
Trabalho, em meio criao de outras importantes organizaes
do movimento da Economia Solidria.
A Secretaria Nacional de Economia Solidria do Ministrio
do Trabalho e Emprego foi criada em junho de 2003. Ela parte
da histria de mobilizao e articulao do movimento da Eco-
nomia Solidria existente no pas. Nos final dos anos 1990, com
o surgimento nos anos anteriores de vrias cooperativas, empre-
sas de autogesto e outros empreendimentos solidrios, o espa-
o de discusso e articulao nacional comeou a ser formado
durante as atividades da Economia Solidria no I Frum Social
Mundial, quando as entidades nacionais da Economia Solidria
418
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
articularam-se em torno de um Grupo de Trabalho Brasileiro de
Economia Solidria.
Este GT Brasileiro de Economia Solidria fortaleceu-se du-
rante as organizaes seguintes do Frum Social Mundial, at a
eleio do candidato do Partido dos Trabalhadores para a Presi-
dncia da Repblica. Nessa conjuntura, esse Grupo de Trabalho
programou a realizao de uma reunio nacional, que contaria
com a participao de gestores de polticas municipais e estaduais
de Economia Solidria, para discutir o papel da Economia Soli-
dria no governo que estaria por vir. Essa reunio foi realizada
em novembro de 2002 e decidiu convocar uma plenria nacional
para deliberar e encaminhar as propostas da Economia Solidria
para o futuro governo federal e a prpria organizao da Eco-
nomia Solidria na sociedade. Nela decidiu-se tambm elaborar
uma Carta para o presidente eleito, sugerindo a criao de uma
Secretaria Nacional de Economia Solidria, que deveria ser apre-
sentada e referendada pela I Plenria Nacional de Economia So-
lidria.
1
Em dezembro do mesmo ano, na 1 Plenria Nacional de
Economia Solidria, que contou com a participao de mais de
200 pessoas de todo o Brasil, representando dezenas de entidades
e empreendimentos, a Carta ao Presidente Lula foi referendada e
se definiu pela realizao da 2 Plenria Nacional durante a rea-
lizao do III Frum Social Mundial, em janeiro de 2003, tendo
como um dos objetivos prioritrios a discusso da criao de um
Frum Brasileiro de Economia Solidria FBES.
Na 2 Plenria, que contou com a participao de mais de mil
pessoas, definiu-se um processo de criao do Frum Brasileiro de
1
Nesta poca, um documento materializou essa articulao, publicada no
mbito do Frum Social Mundial, chamado: Economia Popular Solidria:
Alternativa Concreta de Radicalizao da Democracia, Desenvolvimento
Humano, Solidrio e Sustentvel. Anteag; Critas; CUT/ADS; Fase; Ibase;
Pacs; Sedai/RS. Porto Alegre, 2002.
419
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
Economia Solidria, atravs da realizao de Encontros Estaduais
que preparariam a discusso nacional e elegeriam os delegados para
a Plenria Nacional a ser realizada em junho de 2003.
Assim, o FBES foi criado em junho de 2003, no mesmo pe-
rodo em que surgia a Rede de Gestores de Polticas Pblicas de
Economia Solidria, que, juntos, constituram os dois grandes
interlocutores da Senaes na construo das Polticas Pblicas no
plano federal, apresentando demandas, sugerindo aes e acom-
panhando a execuo das polticas pblicas de Economia Soli-
dria.
Apesar da importncia que vm adquirindo, esses empreen-
dimentos apresentavam (e ainda apresentam) grandes fragilidades
e dificuldades para a conquista da viabilidade econmica e da
sustentabilidade que conferisse as condies para a conquista da
autonomia e da emancipao dos trabalhadores e trabalhadoras.
Muitas dessas dificuldades e contradies decorrem do pr-
prio desenvolvimento dessas iniciativas no interior do capitalis-
mo, obrigadas a se realizarem no mbito do sistema produtor
de mercadorias e apartadas, at ento, de qualquer interlocuo
com o Estado. A conquista da viabilidade e sustentabilidade dos
empreendimentos acabam por encontrar os obstculos que se er-
guem nos processos de comercializao dos produtos (mercado),
no acesso a crdito e financiamento (capital) e na possibilidade de
contarem com assistncia tcnica e formao continuada (conhe-
cimento). O movimento da Economia Solidria no Brasil estava
ento consciente de que, para a superao de tais obstculos, se-
ria necessrio acessar e disputar fundos e recursos pblicos.
A criao da Senaes no mbito do Ministrio do Trabalho
e Emprego (MTE) foi uma deciso importante por situar as pol-
ticas de Economia Solidria enquanto uma poltica de trabalho,
voltada especialmente para o trabalho associado, coletivo e auto-
gestionrio. Tal deciso foi importante inclusive para o prprio
MTE, uma vez que este passou a elaborar e implementar polti-
420
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
cas pblicas de apoio e fomento a formas de trabalho que dife-
rem do (e so inclusive antagnicas ao) trabalho assalariado, do
emprego com carteira assinada.
Para o professor Paul Singer, Secretrio Nacional de Econo-
mia Solidria desde a sua criao em 2003, o posicionamento da
Senaes , no mbito do MTE, significou tambm a ampliao da
responsabilidade do Ministrio.
Com a eleio de Lula presidncia, entidades e empreen-
dimentos do campo da Economia Solidria resolveram solicitar
ao futuro mandatrio a criao de uma secretaria nacional de
Economia Solidria no MTE. Explica-se a opo pelo MTE pe-
los estreitos laos polticos e ideolgicos que ligam a Economia
Solidria ao movimento operrio. A demanda dos movimentos
foi bem acolhida pelo ento ministro Jacques Wagner, que muito
contribuiu para que a Senaes pudesse se instalar e entrosar com
as outras secretarias que compem o MTE.
Convm lembrar que o MTE desde sua criao tem tido
por misso proteger os direitos dos assalariados. Os interesses
dos trabalhadores no formalmente assalariados no figuravam
com destaque na agenda do ministrio. Por isso, o surgimento
da Senaes representou uma ampliao significativa do mbito de
responsabilidades do MTE, que passa a incluir o cooperativismo
e associativismo urbano (j que pelo rural continua responsvel
o Ministrio da Agricultura.
2
Tal deciso pela implantao da poltica no mbito do go-
verno federal foi importante, entre outros fatores, pelo fato de
afastar, desde logo, qualquer possibilidade de que o campo da
Economia Solidria ficasse circunscrito s aes de corte assis-
tencial, como medidas contingenciais resultantes da crise do sis-
2
SINGER, Paul. A Economia Solidria no Governo Federal. Revista Mer-
cado de Trabalho. Ipea. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2004. Este artigo
tambm faz parte desta coletnea.
421
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
tema. Pelo contrrio, situ-la no mbito do Ministrio do Traba-
lho significou o reconhecimento de formas de trabalho e renda
diferenciadas, cuja natureza exige polticas especficas que po-
dem e devem dialogar com as outras polticas do campo social,
sem se confundir ou subsumir s demais.
Nessa medida, no se trata de compreender a Economia
Solidria como polticas contingenciais e compensatrias de en-
frentamento a momentos de aguamento das crises do capital,
pois ela representa um projeto que coloca em questo o modelo
de desenvolvimento hegemnico e aponta para a necessidade de
construo de um novo projeto societal.
Desde a I Conferncia Nacional de Economia Solidria
(I Conaes, 2006), que o campo da Economia Solidria j vinha
afirmando sua compreenso de que, ante a incapacidade estru-
tural do capitalismo de retomar de forma sustentvel o pro-
cesso de crescimento, com a preservao do meio ambiente e
construo de uma perspectiva de futuro para a humanidade,
a Economia Solidria deveria ser afirmada como estratgia de
desenvolvimento, e suas polticas deveriam estar voltadas para
o fortalecimento desse novo modo de produo, comercializa-
o, consumo e crdito baseado na cooperao, na autogesto
e na solidariedade.
Neste sentido, a II Conferncia Nacional de Economia Soli-
dria (II Conaes, 2010) foi explcita ao entender que:
Nos momentos de crise econmica aumenta o interesse pela Eco-
nomia Solidria, suscitando o debate sobre o tema. No entanto,
a Economia Solidria no deve ser considerada apenas como um
conjunto de polticas sociais ou medidas compensatrias aos da-
nos causados pelo capitalismo, nem como responsabilidade so-
cial empresarial. Seu desafio o de projetar-se como paradigma
e modelo de desenvolvimento que tem por fundamento um novo
modo de produo, comercializao, finanas e consumo que pri-
vilegia a autogesto, a cooperao, o desenvolvimento comunit-
422
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
rio e humano, a justia social, a igualdade de gnero, raa, etnia,
acesso igualitrio informao, ao conhecimento e segurana
alimentar, preservao dos recursos naturais pelo manejo sus-
tentvel e responsabilidade com as geraes, presente e futuras,
construindo um nova forma de incluso social com a participa-
o de todos.
Neste sentido, as polticas pblicas de Economia Solidria podem
ser medidas anticclicas efetivas, estruturais e emancipatrias que
possibilitam um conjunto de microrrevolues. (II Conaes, Bra-
slia, julho de 2010, p. 14.)
Sendo assim, a compreenso de polticas pblicas de Econo-
mia Solidria do governo federal, atravs da Senaes, encontrava
sua definio enquanto estratgia de enfrentamento da excluso
e da precarizao do trabalho, sustentada em formas coletivas de
gerao de trabalho e renda, e articulada aos processos participa-
tivos e sustentveis de desenvolvimento local, que apontassem para
a emancipao social dos seus trabalhadores e trabalhadoras.
o programa economia solidria em desenvolvimento
A partir da construo do Sistema de Informaes em Eco-
nomia Solidria (Sies), e nas discusses para a realizao do Ma-
peamento da Economia Solidria no Brasil, a Senaes adotou os
conceitos e categorias que encontram convergncia dos diversos
atores que participaram desse processo. Cabe destacar, especial-
mente, a ideia de que os empreendimentos econmicos solidrios
possuem as seguintes caractersticas, conforme definido a partir
de amplo processo de discusso e que se consolidou no Sistema
Nacional de Informaes em Economia Solidria (Sies):
Cooperao: a existncia de interesses e objetivos co-
muns, a unio dos esforos e capacidades, a propriedade
coletiva dos bens, a partilha dos resultados e a respon-
sabilidade solidria sobre os possveis nus.
423
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
Autogesto: os membros das organizaes exercitam as
prticas participativas de autogesto dos processos de
trabalho, das definies estratgicas e cotidianas dos
empreendimentos, da direo e coordenao das aes
nos seus diversos graus e interesses etc. Os eventuais
apoios externos, de assistncia tcnica e gerencial, de
capacitao e assessoria, no devem substituir nem im-
pedir o protagonismo dos verdadeiros sujeitos da ao.
Solidariedade: o carter de solidariedade nos empreen-
dimentos expresso em diferentes dimenses: na justa
distribuio dos resultados alcanados; nas oportunida-
des que levam ao desenvolvimento de capacidades e da
melhoria das condies de vida dos participantes; nas re-
laes que se estabelecem com o meio ambiente, expres-
sando o compromisso com um meio ambiente saudvel;
nas relaes que se estabelecem com a comunidade local;
na participao ativa nos processos de desenvolvimento
sustentvel de base territorial, regional e nacional; nas
relaes com os outros movimentos sociais e populares
de carter emancipatrio; na preocupao com o bem
estar dos trabalhadores e consumidores; e no respeito
aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Dimenso econmica: uma das bases para a reunio
dos esforos e recursos para a produo, o beneficiamen-
to, o crdito, a comercializao e o consumo, com o ob-
jetivo de gerar renda e trabalho. Envolve o conjunto de
elementos de viabilidade econmica, ao lado dos aspectos
culturais, ambientais e sociais, especficos da comunida-
de, ultrapassando as aes de mero assistencialismo.
3
De uma forma ou de outra, coube a Senaes, alm de aes
que buscassem ao chamado reconhecimento do direito ao tra-
3
Fonte: www.mte.gov.br
424
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
balho associado e para dar concretude a esse direito, desen-
volver polticas que resultassem no fortalecimento, apoio e fo-
mento a esses empreendimentos, tanto diretamente atravs dos
instrumentos prprios do Executivo Federal, como por meio
de articulaes institucionais com outros ministrios e rgos
pblicos.
O Programa Economia Solidria em Desenvolvimento foi
criado em 2004 com o objetivo de atender s principais deman-
das dos empreendimentos econmicos solidrios e promover o
fortalecimento e a divulgao da Economia Solidria, mediante
polticas integradas, visando a gerao de trabalho e renda, a in-
cluso social e a promoo do desenvolvimento justo e solidrio.
De forma geral, suas polticas estiveram voltadas para garantir o
acesso a recursos e investimento nos empreendimentos (crdito,
financiamento, finanas solidrias etc.), a conhecimentos (educa-
o, formao e assessoria tcnica adequadas) e a novos meca-
nismos para a comercializao dos produtos (acesso a mercados,
comrcio justo etc.).
A implantao do Programa se deu em constante articu-
lao com entidades da sociedade civil, organizadas nacional-
mente no Frum Brasileiro de Economia Solidria, e nos 27 Es-
tados da Federao a partir de Fruns Estaduais de Economia
Solidria, que articulam os sujeitos que atuam nesse campo.
Este composto principalmente por trs grandes segmentos: 1)
os empreendimentos de Economia Solidria dos mais variados
ramos e atividades econmicas; 2) entidades de fomento e as-
sessoria (ONGs, universidades, sindicatos etc.); 3) gestores p-
blicos de Economia Solidria (de prefeituras, das DRTs e de
governos estaduais).
Pode-se dizer que uma das caractersticas das polticas im-
plementadas pela Senaes nesse perodo foi a construo de espa-
os de participao e controle social das polticas. Essa perspec-
tiva teve incio com os Grupos de Trabalho (GTs) entre Senaes
425
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
e Frum Brasileiro de Economia Solidria nas diferentes aes
que vinham sendo construdas, e que significaram mais do que
um espao de negociao entre sociedade civil e Estado, pois re-
presentaram um processo construdo para o compartilhamen-
to na construo, elaborao e desenvolvimento das polticas e
aes.
Um dos exemplos destes espaos, que inclusive se consoli-
dou e institucionalizou, sendo posteriormente incorporado em
praticamente todas as aes desenvolvidas pela Secretaria, fo-
ram as Comisses Gestoras Nacional e Estaduais do Sies, fi-
cando como uma importante experimentao de gesto demo-
crtica do Estado, que precisa ser devidamente recuperada e
estudada.
Cabe destacar, nesse caso, a importncia que para a Senaes
representaram as parcerias com a Financiadora de Estudos e Pro-
jeto (Finep) e com a Fundao Banco do Brasil (FBB). Nos dois
casos, e guardadas as diferenas resultantes da natureza de cada
uma das instituies (a primeira, pblica e a segunda, privada
sem fins lucrativos), vrias aes e polticas da Senaes encontra-
ram nessas instituies parceiros que executaram de forma com-
partilhada e fizeram avanar o apoio aos atores da Economia
Solidria.
Durante as duas gestes do Governo Lula, as polticas da
Senaes interagiram e construram aes efetivas com vrios mi-
nistrios e rgos pblicos, alm do dilogo constante com as ou-
tras Secretarias do Ministrio do Trabalho e Emprego. Em vrios
casos, essa cooperao com outros rgos de governo resultou
em parcerias efetivas atravs da construo de aes conjuntas e/
ou a integrao de polticas em andamento. Em outras situaes,
a interao com a Senaes resultou no estmulo para que outras
pastas incorporassem efetivamente nas suas aes e polticas a
perspectiva da Economia Solidria. Uma parte desse processo
ser apresentada a seguir.
426
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
a economia solidria como poltica transversal e
intersetorial
No mbito do prprio Ministrio do Trabalho e Emprego,
atravs do Programa Economia Solidria em Desenvolvimento, a
Senaes interagiu e dialogou com vrias aes no mbito das Pol-
ticas Pblicas de Emprego.
Com a Secretaria de Inspeo do Trabalho tratou de cons-
truir conjuntamente um entendimento comum de como impedir
a utilizao da forma jurdica das cooperativas com o nico obje-
tivo de precarizar o trabalho, ao mesmo tempo em que se buscou
propiciar que as verdadeiras e legtimas cooperativas de trabalho
possam existir e se fortalecer. Um exemplo desse trabalho foi a
elaborao conjunta por essas duas Secretarias do MTE de pro-
postas para um novo marco regulatrio para as Cooperativas de
Trabalho, estabelecendo-se para tanto um amplo debate com os
auditores fiscais do trabalho, explicitando-se o sentido da Econo-
mia Solidria e do legtimo cooperativismo do trabalho, separan-
do essa realidade do que se apresenta apenas como fraude. Alm
disso, a Senaes dialogou com a inspeo do trabalho no sentido
de construir alternativas inclusivas no mbito das aes de fisca-
lizao e combate ao trabalho escravo.
Com a Secretaria de Relaes de Trabalho, participou junto
ao Frum Nacional do Trabalho (FNT), espao pblico de dis-
cusso e elaborao de uma nova proposta para a estrutura tra-
balhista no Brasil. Coube Senaes coordenar o chamado GT-8
do FNT, chamado de Micro e pequenas empresas, autogesto e
informalidade. O GT-8, diferentemente dos outros sete Grupos
de Trabalho do FNT
4
, buscou reunir categorias que no possuam
4
Os outros sete Grupos de Trabalho do FNT eram: GT 1: Organizao Sin-
dical; GT 2: Negociao Coletiva, GT 3: Sistema de Composio de Con-
flitos; GT 4: Legislao Trabalhista; GT 5: Normas Administrativas sobre
427
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
representao institucional no modelo tpico de representao e
participao social do mundo do trabalho caracterizados pelo
tripartismo e paridade entre sindicatos de trabalhadores assala-
riados, representao patronal e governo alm de incluir suas
pautas nos trabalhos do FNT, especialmente na busca da cons-
truo de marcos regulatrios que garantam o direito ao traba-
lho associado, coletivo e autogestionrio, resultando na incor-
porao naquele espao institucional de discusso do trabalho,
segmentos at ento negligenciados pelas polticas pblicas.
Com a Secretaria de Polticas Pblicas de Emprego, a
Senaes se relacionou ou se relaciona com o Programa Primei-
ro Emprego, com polticas de microcrdito e crdito aos empre-
endimentos solidrios, como o Plano Nacional de Qualificao,
entre outros. Avanos significativos foram obtidos no mbito da
Poltica de Qualificao Social e Profissional, na qual a Senaes
construiu, em conjunto com a SPPE, aes para a construo de
metodologias e materiais didticos para a formao de trabalha-
dores associados, atravs dos Projetos Especiais de Qualificao
(ProEsQs), e duas verses do Plano Nacional de Qualificao
Social e Profissional em Economia Solidria (PlanSeQ EcoSol),
em 2006 e 2008, abrangendo cerca de 16 mil trabalhadores e
trabalhadoras nas cinco regies do pas.
Alm disso, a Secretaria Nacional de Economia Solidria
dialogou com diversos ministrios e rgos do Governo Fede-
ral, especialmente da rea social, com o objetivo de ampliar o
campo de acesso da Economia Solidria s polticas pblicas e
estabelecer parcerias para o fortalecimento das aes e polticas
desenvolvidas pela prpria Senaes. De uma maneira ou de outra,
e embora a Economia Solidria no tenha sido claramente defi-
nida como estratgia central do Governo Federal neste perodo,
Condies de Trabalho; GT 6: Organizao Administrativa e Judiciria e
GT 7: Qualificao e Certificao Profissional.
428
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
o tema do trabalho associado e a perspectiva de fortalecimento
desse campo de prticas foi incorporada e internalizada por v-
rios rgos e polticas pblicas.
Em alguns casos, a Economia Solidria foi incorporada
como tema transversal enquanto perspectiva de organizao de
trabalhadores e trabalhadoras associados para a produo dos
meios de vida. Em outras situaes, foram estabelecidas parce-
rias que resultaram em aes e polticas intersetoriais, buscando
o fortalecimento mtuo e a mobilizao conjunta dos atores dos
campos sociais abrangidos.
Alguns exemplos de aes e polticas que incorporaram
o tema da Economia Solidria e passaram a adot-la transver-
salmente ou que avanaram para o estabelecimento de relaes
interse toriais so:
Ministrio da Sade: a partir da Coordenao-Geral de Sa-
de Mental, a Senaes interagiu fortemente no dilogo para a cons-
truo de alternativas de gerao de trabalho, renda e incluso so-
cial para usurios do sistema de sade mental no contexto da luta
antimanicomial. Neste contexto, dialogou tambm no sentido de
fortalecer as aes de gerao de trabalho e renda desenvolvidos
nos Centros de Ateno Psicossocial (Caps), contribuindo na for-
mao de gestores da rede de sade mental e na articulao das
Cooperativas Sociais criadas nessa poltica com os atores da Eco-
nomia Solidria nos territrios. A Senaes e a Coordenao-Geral
de Sade Mental cerraram fileiras na luta pela implementao de
uma poltica pblica federal para as Cooperativas Sociais e pela
construo e consolidao de um marco regulatrio para o setor.
Como marco dessa parceria, destaca-se a realizao, em conjunto
com outros rgos de governo e organizaes representativas do
Movimento da Sade Mental e da Economia Solidria, da Confe-
rncia Temtica sobre Cooperativismo Social (2010).
Ministrio do Desenvolvimento Social: o Programa Econo-
mia Solidria em Desenvolvimento realizou inmeras parcerias
429
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
com os programas e aes do Ministrio do Desenvolvimento So-
cial e Combate Fome (MDS). Em primeiro lugar, cabe destacar
o esforo realizado para a construo das polticas de Incluso
Produtiva, tanto com a Secretaria Nacional de Assistncia Social
como com a Secretaria de Articulao Institucional e Parcerias.
Houve cooperao na construo de editais para prefeituras e
governos estaduais para aes no campo da incluso produtiva
na perspectiva da Economia Solidria, desenvolvidas no mbito
da poltica nacional de assistncia social, enquanto busca de al-
ternativas emancipatrias para os programas de transferncia de
renda. Trabalhou-se tambm conjuntamente no apoio aos Fun-
dos Rotativos solidrios, particularmente na regio nordeste do
pas. Com a Secretaria Nacional de Segurana Alimentar foram
realizadas parcerias em aes estratgias, como no campo da
agricultura urbana, programa de aquisio de alimentos (PAA),
restaurantes populares e cozinhas comunitrias, a partir do re-
conhecimento de que as estratgias possuam identidade de pro-
psito e interesses comuns. Com o MDS foram realizados ainda
importantes dilogos no mbito do Comit Interministerial de
Incluso dos Cata dores de Materiais Reciclveis, no desenvolvi-
mento de aes e polticas para o fortalecimento da organizao
social e produtiva do setor da reciclagem dos materiais. Alm
disso, buscou-se, desde o incio do governo Lula, dialogar no sen-
tido de incorporar a Economia Solidria como uma ao estru-
turante e emancipatria nas estratgias de segurana alimentar e
de combate fome.
Ministrio do Desenvolvimento Agrrio: tanto a Senaes
como a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA fo-
ram criaes do Governo Lula e, desde o incio, encontraram
grande disposio para o dilogo e construo conjunta de po-
lticas. Neste caso, foram realizadas importantes iniciativas no
mbito dos Territrios de Cidadania, no apoio e fortalecimento
das redes e espaos de comercializao solidrios, atravs das
430
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
Bases de Servios de Comercializao da Agricultura Familiar,
do MDA, e na discusso e impulsionamento da regulamentao
sobre comrcio justo e solidrio, materializado no decreto presi-
dencial assinado em 2010 pelo presidente Lula.
Ministrio da Cultura: o campo de possibilidades para o
dilogo e construo conjunta de polticas culturais para o traba-
lho associado imenso, maior do que se conseguiu efetivamente
construir nesse perodo. Exemplo disso foram as Teias, feiras de
cultura e Economia Solidria que sempre tiveram forte participa-
o do movimento da Economia Solidria, com resultados pol-
ticos e organizativos significativos, como por exemplo no dilo-
go que se estabeleceu entre os Pontos e Pontes de Cultura e os
atores da Economia Solidria. No obstante, tais iniciativas no
resultaram em dilogos posteriores que dessem prosseguimento
parceria institucional atravs de aes mais permanentes entre a
rea cultural e a Economia Solidria. Outro dilogo importante
realizado pela SENAES com o Ministrio da Cultura foi a rea-
lizao de aes no mbito da extenso universitria, em parce-
ria com o Frum de Pr-Reitores de Extenso das Universidades
Pblicas, que resultaram na Conferncia de Economia Solidria
da Cultura, realizada em 2010 em Osasco/SP, envolvendo a Rede
de Gestores de Polticas Pblicas de Economia Solidria. O cam-
po da Economia Solidria da cultura apresenta vasto manancial
de possibilidades para o desenvolvimento de aes conjuntas das
duas reas, impulsionando e fomentando articulaes que j se
vm realizando nos territrios.
Ministrio da Educao: nos oito anos de existncia da
Senaes , o Programa Economia Solidria em Desenvolvimento
encontrou nas Secretarias do MEC parcerias importantes e es-
tratgicas para o fortalecimento da Economia Solidria e am-
pliao do campo do trabalho associado no mbito das polticas
educacionais. Em primeiro lugar, cabe mencionar as parcerias
realizadas com a Secretaria de Educao Tecnolgica, materia-
431
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
lizada no Projeto Escola de Fbrica, na incorporao do tema
da Economia Solidria junto ampliao da rede de Institutos
Federais de Educao Tecnolgica (Ifets) e na absoro do tra-
balho associado no mbito do programa de certificao de sabe-
res profissionais (Certific). Com a Secretaria de Educao Con-
tinuada, Alfabetizao e Diversidade foram realizadas parcerias
efetivas em diversas reas, com destaque para a incorporao da
Economia Solidria como eixo estruturante do Programa Sabe-
res da Terra e os Editais para apoio atividades de formao de
professores de Educao de Jovens e Adultos em Economia So-
lidria e construo de materiais didticos (Resoluo 51/2008
FNDE/MEC). Neste caso, foram aprovados 11 projetos de Uni-
versidades Pblicas e Ifets para o desenvolvimento de projetos de
formao de professores de EJA em Economia Solidria, sendo
que quase todos j em andamento. Cabe mencionar ainda, nessa
parceria, o avano obtido nas relaes com a Secretaria de Edu-
cao Superior, especialmente no mbito do Programa Nacional
de Incubadoras Tecnolgicas de Cooperativas Populares Pro-
ninc. Neste caso, alm de participar do Comit Gestor do Pro-
ninc, em conjunto com outros onze ministrios e rgos pblicos,
alm das duas redes de incubadoras, a Secretaria de Educao
Superior incorporou, em parceria com a Senaes, o apoio s Incu-
badoras atravs do Programa de Extenso Universitria (Proext),
que vem ganhando importncia e reconhecimento social atravs
de chamadas regulares com a mobilizao crescente de recursos.
A parceria com o MEC tem sido igualmente fundamental para o
desenvolvimento de polticas da Senaes, como no caso dos Cen-
tros de Formao em Economia Solidria, participando do Co-
mit Gestor Nacional e contribuindo para o avano das polticas
de educao para o trabalho associado.
Ministrio de Minas e Energia: durante um perodo, a
Senaes estabeleceu um importante dilogo com os trabalhadores
do setor mineral, principalmente junto aos empreendimentos do
432
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
setor da pequena minerao. A discusso da organizao econ-
mica desse setor apontou caminhos para polticas do Ministrio
de Minas e Energia nesse segmento, especialmente no que diz
respeito ao apoio e fomento ao trabalho associado dos garim-
peiros. Outra parceria se deu no mbito do Programa Luz para
Todos, com parcerias realizadas para avanar na organizao
produtiva dos segmentos beneficirios com o acesso energia
eltrica.
Ministrio de Cincia e Tecnologia: cabe mencionar, neste
caso, que as parcerias mais efetivas se deram por intermdio da
Financiadora de Estudos e Projetos, atravs de aes no mbito
do apoio cincia e tecnologia para o desenvolvimento social. J
mencionamos a importncia da Finep para a execuo de vrias
polticas da Senaes, especialmente para o apoio ao Proninc, mas
importante ainda as aes desenvolvidas em conjunto com a
Finep para o desenvolvimento da rea das tecnologias sociais,
tanto por aes diretas como atravs da Rede de Tecnologias
Sociais.
Como exemplo da tranversalidade alcanada pela Econo-
mia Solidria nas polticas do Governo Federal nesse perodo,
destacamos a resoluo da 4 Conferncia Nacional de Cin-
cia, Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel,
reali zada em Braslia em 2010. Nos Anais dessa Conferncia, na
parte destinada Cincia e Tecnologia para o Desenvolvimento
Social (Livro Azul, pp. 89-95), as aes voltadas ao trabalho as-
sociado apareceram da seguinte maneira:
3. Estabelecer polticas e programas especficos para a difuso,
apropriao e uso da C,T&I para o desenvolvimento local e re-
gional e para estimular empreendimentos solidrios.
a) Fortalecer e ampliar as Secretarias Municipais de C,T&I e ins-
tituir Conselhos de Desenvolvimento Local nos municpios. Ela-
borar planos diretores municipais para subsidiar a alocao de
recursos e o uso de tecnologias inovadoras.
433
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
b) Estabelecer programas de C,T&I para o desenvolvimento lo-
cal e regional, como aqueles voltados para incubadoras de neg-
cios, industrias criativas, economia da cultura e desenvolvimento
sustentvel. Promover a formao e a capacitao de agentes de
C,T&I para o desenvolvimento local nos municpios.
c) Promover a convergncia social dos programas de C,T&I para
o desenvolvimento social. Estabelecer polticas integradas de
apoio, acompanhamento e avaliao para o desenvolvimento de
tecnologias sociais, extenso tecnolgica, empreendimentos de
economia solidaria, segurana alimentar e nutricional, incluso
digital, Centros Vocacionais Tecnolgicos (CVTs), APLs, popu-
larizao e apropriao social da C&T.
d) Promover o apoio tecnolgico para a incluso produtiva, a agricul-
tura familiar e os empreendimentos econmicos populares que levem
a gerao de emprego e renda. Utilizar o poder de compra do Estado,
bem como acesso a crdito de forma geral, junto aos empreendimen-
tos de Economia Solidria, a semelhana do que ocorre em relao as
empresas. Promover a criao de incubadoras sociais para o fortaleci-
mento de entidades que utilizem as tecnologias sociais.
e) Promover o desenvolvimento de aes convergentes entre r-
gos governamentais para a implantao, manuteno e aprimo-
ramento de CVTs e outros espaos no formais de qualificao
profissional, promovendo a integrao dos CVTs em redes, de
forma articulada com as polticas publicas de desenvolvimento
regional e de incluso social, e em parceria com instituies do
sistema de ensino e pesquisa.
f) Estimular o setor empresarial a promover aes de responsa-
bilidade social que contribuam para o atendimento de necessida-
des coletivas e para o desenvolvimento sustentvel.
g) Promover a extenso de marcos regulatrios concernentes as
empresas para empreendimentos de economia solidaria e elabo-
rar novos para facilitar a transversalidade de aes em C,T&I nas
PPPs e entre municpios, Estados e governo federal.
5
5
Livro Azul da 4 Conferncia Nacional de Cincia e Tecnologia e Inovao
para o Desenvolvimento Sustentvel Braslia: Ministrio da Cincia e Tec-
nologia/ Centro de Gesto e Estudos Estratgicos, 2010. (Item: C,T&I para
o desenvolvimento social. pp. 89 95).
434
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
Ministrio das Cidades: existe um dilogo importante em
andamento entre a Senaes e o Ministrio das Cidades para o
apoio aos programas de financiamento de moradias populares,
principalmente pelo Programa de Subsdio Habitao de Inte-
resse Social (PHS). H um potencial considervel para o avano
da Economia Solidria nessa rea, em especial pelas experin-
cias existentes de construo de moradias populares em regime
de mutiro e autoges to. Um exemplo disso a ao que a Se-
naes desenvolveu na cidade de So Paulo, apoiando a formao
de Bancos Comunitrios em quatro mutires com autogesto e
que tem dado frutos positivos. Ao mesmo tempo, essas experin-
cias podem contribuir para o aperfeioamento e maior efetivi-
dade das polticas governamentais nessa rea, atravs do maior
envolvimento das comunidades beneficirias nas definies das
construes de habitaes, planejamento dos espaos de gerao
de trabalho e renda e equipamentos pblicos, bem como para o
controle social da poltica.
Pensamos que esses exemplos j demonstram o potencial
da Economia Solidria para a sua efetivao enquanto estratgia
transversal na elaborao e implementao de polticas pblicas
de gerao de trabalho e renda, incluso social e combate mis-
ria, havendo provavelmente poucas polticas setoriais do governo
que no possam dialogar com estratgias econmicas solidrias
na perspectiva de fortalecer suas aes setoriais, bem como forta-
lecer este outro modelo de desenvolvimento. Igualmente impor-
tantes so os casos em que houve construes intersetoriais efe-
tivas de polticas pblicas, como nos casos do MEC e do MDS,
que revelam a importncia das aes integradas para o fomento
ao trabalho associado.
Outras reas de polticas pblicas em que houve importan-
tes dilogos e construes intersetoriais com a Economia Soli-
dria poderiam ser mencionadas, como por exemplo: com o Mi-
nistrio do Meio Ambiente foram realizadas inmeras aes no
435
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
campo da Agenda 21, fazendo confluir a agenda ambiental com a
Economia Solidria; com a Secretria Especial da Aquicultura e
Pesca, um dilogo foi iniciado para o apoio e fomento ao coope-
rativismo dos trabalhadores da pesca; com a Secretaria Especial
de Polticas para a Promoo da Igualdade Racial, uma impor-
tante articulao foi realizada no mbito das polticas para as
comunidades remanescentes de quilombos, resultando em uma
Conferncia Temtica sobre Etnodesenvolvimento (com Funai,
MDS, Seppir e Senaes); com o Ministrio do Turismo, foi poss-
vel iniciar aes concretas de apoio s formas de turismo solid-
rio; com Bancos Pblicos, especialmente BNB e BNDES, foram
realizados importantes dilogos para a ampliao da atuao
dos bancos de desenvolvimento no apoio e fomento aos empre-
endimentos econmicos solidrios, seja atravs dos Fundos Ro-
tativos Solidrios apoiados pelo BNB, seja atravs das relaes
estabelecidas com o BNDES no mbito do fomento s empresas
recuperadas e cooperativas de resduos slidos; no campo dos
estudos e pesquisas, a Senaes construiu importantes aes com o
Ipea, que trouxeram contribuies importantes para a qualifica-
o das aes da secretaria.
Sendo assim, podemos dizer que a Economia Solidria con-
quistou, nesses oito anos de implantao no governo federal,
importante espao no mbito das polticas pblicas sociais, de
trabalho, gerao de renda, incluso produtiva, combate mis-
ria e fome, cultura, meio ambiente etc., configurando-se uma
importante conquista do movimento da Economia Solidria no
Brasil e dos movimentos sociais que possuem orientao emanci-
patria, para alm do capital e da sociedade contempornea. Em
que pese essas conquistas, seu destino e consolidao enquan-
to poltica de Estado so ainda uma incgnita, permanecendo
na dependncia da capacidade de mobilizao e organizao dos
atores desse campo para inscrever suas demandas imediatas e
histricas na agenda pblica.
436
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
algumas articulaes internacionais da secretaria nacional
de economia solidria
No novidade que a economia social e solidria, ou ape-
nas Economia Solidria assim, como conhecida no Brasil, vem
crescendo nas ltimas dcadas, de diferentes maneiras, em todos
os continentes. As diferenas histricas e mesmo conceituais des-
sas experincias, que so de fato significativas, decorrem das par-
ticularidades histricas da constituio da Economia Solidria
em mbito nacional e por se tratar de um processo de construo
ainda em aberto, tanto do ponto de vista das experincias nacio-
nais como do ponto de vista de sua construo e articulao em
mbito internacional.
Longe de pretendermos realizar uma apresentao e anlise
do processo de articulao internacional da Economia Solidria
na ultima dcada
6
, importante o registro de que a experincia
brasileira tem despertado cada vez mais interesse e curiosidade
pelo mundo afora. De fato, devido ao seu crescimento exponen-
cial, ao seu modelo institucional inovador, diversidade de ex-
perincias, articulao de fruns de Economia Solidria e
abertura de espaos institucionais cada vez mais ampliados no
mbito do aparato de Estado, o caso brasileiro tem despertado
importante interesse internacional.
Ao mesmo tempo em que se reforam as articulaes a par-
tir da sociedade civil, cada vez mais intensa que na ltima dca-
da, o fato que a criao da Secretria Nacional de Economia
Solidria no Ministrio do Trabalho e Emprego foi uma deciso
poltica do primeiro governo Lula, que ampliou o espao social
6
Destaca-se, apenas, que um provvel marco desse processo de articulao te-
nha sido a realizao do I Encontro da Globalizao da Solidariedade, realiza-
do em Lima, Peru, em 1997 e que deu origem a Rede Intercontinental de Pro-
moo da Economia Solidria. Do ponto de vista de entidades governamentais,
no entatno, esse processo ser iniciado apenas a partir dos anos 2000.
437
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
internacional da Economia Solidria brasileira e fez com que a
Senaes fosse cada vez mais demandada para participar de espa-
os internacionais de discusso, trazendo a sua experincia e ac-
mulos. So exemplos de pases que solicitaram a participao da
Senaes em eventos e espaos de cooperao: Venezuela, Equador,
Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolvia, Mxico, Cuba, ustria,
Blgica, Espanha, Frana, Portugal, Timor Leste, Alemanha, Se-
negal, Moambique, Angola, entre outros.
Nessa perspectiva de articulao internacional e, dentro
dela, de integrao regional, a Senaes elencou algumas priorida-
des quanto ao seu relacionamento com estruturas governamen-
tais de outros pases, como nos espaos de integrao e em temas
e estratgias que deveriam contar nesse processo.
Em primeiro lugar, foi priorizada a articulao da Senaes
no contexto da integrao regional, destacando particularmente
a sua participao em espaos institucionais do Mercosul. Nesse
caso, a partir do dilogo com outros entes governamentais e enti-
dades da sociedade civil dos pases do Cone Sul, a Senaes passou
a fazer parte, a partir de 2007, da Reunio Especializada de Co-
operativas do Mercosul (RECM).
A RECM uma reunio especializada que faz parte da es-
trutura organizacional e institucional do Mercosul, tendo por
objetivo subsidiar tecnicamente as decises do Grupo Mercado
Comum (GMC), que , abaixo dos presidentes, o rgo executivo
mximo do Mercosul.
Criada em 2001, a RECM contou com pouca participa-
o do Brasil at 2007, quando era representada por setores li-
gados ao cooperativismo tradicional. Foi apenas com a entrada
da Senaes , e junto dela a de outras entidades da sociedade civil
brasileira (Unicafes e Unisol), que a RECM passa a incorporar
em sua agenda a Economia Solidria.
A partir de ento a Senaes tem se esforando em desenvol-
ver quatro grandes eixos de ao no interior da RECM:
438
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
1. Integrao poltico-cultural da Economia Solidria nos
pases da regio: A RECM tem buscado promover intercmbio
e espaos de articulao entre as entidades da sociedade civil,
como o chamado Emfess Espao Mercosul de Formao em
Economia Social e Solidria. O Emfess tem propiciado o inter-
cmbio entre membros de empreendimentos econmicos soli-
drios dos pases da Amrica do Sul
7
. Alm da participao no
espao Emfess, a Senaes tem buscado apoiar as iniciativas das
entidades da regio na construo de articulaes em comum,
como no caso da Red del Sur, articulao de entidades de repre-
sentao de empreendimentos econmicos solidrios da Amri-
ca do Sul.
2. Mapeamento e construo da Economia Solidria na re-
gio: atravs do fomento ao intercmbio de informaes sobre
Economia Solidria nos pases do Mercosul, busca-se o compar-
tilhamento dos bancos dos dados e a construo de processos
comuns de conhecimentos da Economia Solidria nas regies de
fronteira. Nesse sentido, a Senaes est participando do levanta-
mento de informaes da Economia Solidria em quatro regies-
polo das fronteiras com a Argentina, Uruguai e Paraguai. A pers-
pectiva desse eixo a construo futura de um observatrio da
Economia Solidria para a regio.
3. Integrao socioeconmica solidria: busca propiciar o
intercmbio econmico entre empreendimentos econmicos soli-
drios dos diferentes pases, tendo como eixo o Comrcio Justo
e Solidrio. Nesse sentido, est em estudo a criao de um escri-
trio de Comrcio Justo e Solidrio entre os pases membros da
RECM.
7
Importante destacar que apesar de a RECM, como afirmamos, ser um es-
pao institucional do Mercosul, ela busca em sua atuao no ficar restrita
apenas aos pases membros, mas envolver tambm os demais pases Latino
Americanos.
439
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
4. Integrao de polticas pblicas: espao destinado tro-
ca de experincias sobre polticas pblicas de Economia Solid-
ria e marcos legais. Nesse caso, um dos avanos adquiridos nos
perodo pela RECM foi a aprovao do Estatuto do Cooperati-
vismo do Mercosul, primeiro projeto parlamentar aprovado pelo
Parlasul, em 2009, e que propicia que uma cooperativa de um
pas possa ter cooperados de outro. Outra iniciativa tem sido a
realizao de Oficinas preparatrias de uma Conferncia Regio-
nal sobre a Resoluo n 193 da Organizao Internacional do
Trabalho (OIT), que dar oportunidade para que sejam debati-
das as polticas pblicas que esto sendo desenvolvidas para o
setor na regio.
Esses quatro grandes eixos foram construdos a partir da
participao brasileira na RECM, que vem norteando todas as
aes internacionais da Senaes em mbito internacional. Dessa
maneira, a Senaes tem participado, ainda no mbito latino-ame-
ricano, de reunies da Unasul e da Aladi (Associao Latino-
Americana de Integrao) e tem buscado apresentar essas agen-
das como eixos estratgicos de cooperao.
no contexto dessa participao internacional que a Senaes
construiu tambm uma importante agenda de articulao com a
Itlia, colaborando com o Programa Brasil Prximo, onde partici-
pam regies italianas e a Presidncia da Republica do Brasil. Nes-
se contexto, a Senaes tem buscado conhecer a antiga experincia
italiana de cooperativismo e debater avanos legais alcanados na-
quele pas, como no tema do cooperativismo social, cooperativis-
mo de trabalho e aspectos tributrios das cooperativas.
Por outro lado, a Itlia e outros pases europeus tm se inte-
ressado cada vez mais pela Economia Solidria no Brasil e pelas
suas experincias de polticas pblicas. Isso porque, ao que pare-
ce, tm encontrado na nossa experincia possibilidades emanci-
ptorias concretas que foram perdidas em suas ltimas experin-
cias de cooperativismo e Economia Solidria.
440
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
Dessa maneira, a integrao e articulao internacional que
a Senaes vem realizando, para alm da agenda estratgica, bus-
cou ser um fator de articulao de um projeto poltico e emanci-
patrio em mbito internacional.
concluses
As experincias de autogesto e de Economia Solidria no
Brasil vm apresentando um crescimento significativo nas ltimas
dcadas, tanto na sua dimenso quantitativa quanto na qualitati-
va, podendo-se afirmar que este campo econmico, social e pol-
tico j faz parte da histria dos movimentos sociais no Brasil um
patrimnio de conquistas que precisar ser devidamente registrado
e valorizado no mbito dos movimentos emancipatrios.
A transformao destas experincias em polticas pbli-
cas e a conquista de espaos governamentais responsveis por
foment-las e reconhec-las tem colocado novas questes para o
conjunto do mundo do trabalho e apontam para a possibilidade
de construo de novas institucionalidades que superem aquelas
construdas no contexto da sociedade salarial, que tinham no
assalariamento o nico modelo orientador dos processos de re-
gulao pblica do trabalho.
Estas mudanas institucionais e as possibilidades de novos
arranjos que permitem que se considere a Economia Solidria
como um novo modelo de sociabilidade no Brasil dependem dos
rumos que a Economia Solidria ir tomar no prximo perodo.
Depois de duas dcadas de estagnao econmica e desemprego
em massa, o Brasil tem, nos ltimos anos, retomado um novo
ciclo de crescimento econmico. Crescimento que significou a
criao de quase 15 milhes de empregos formais no perodo de
2003 a 2010 e que faz com que, no incio de 2011, a taxa de de-
semprego esteja prxima de 6%, o que significa patamares consi-
derados como muito prximos ao Pleno Emprego.
441
Maurcio Sard de Faria | Fbio Jos Bechara Sanchez
Desta maneira, se verdade que dois dos fatores predomi-
nantes de crescimento da Economia Solidria no ltimo perodo
foram a crise econmica e o desemprego em massa que atingiu
a sociedade brasileira dos anos de 1980 at os primeiros anos
da dcada de 2000, a questo que neste momento se apresenta
como a Economia Solidria ir se comportar num contexto de
significativo crescimento econmico e de volta da ampliao do
trabalho assalariado.
A Economia Solidria se transformou tambm no ltimo
perodo e, ao se desenvolver, foi deixando de ser parte de uma
agenda apenas de resistncia s transformaes no mundo do
trabalho para se constituir em uma poltica e uma estratgia
de desenvolvimento, socialmente justo e sustentvel. Desta ma-
neira, a Economia Solidria no Brasil tem feito parte de uma
agenda que busca pensar modelos alternativos de desenvolvi-
mento socioeconmico, includente e democrtico, abrindo-se
novos amplos horizontes para as lutas emancipatrias para o
prximo perodo.
Como procuramos mostrar nesse artigo, os avanos do
movimento da Economia Solidria durante os dois governos
Lula foram significativos, sendo inmeras as reas de governo
e polticas pblicas que incorporam o tema e desenvolveram
aes efetivas de apoio e fomento ao trabalho associado. Em
que pese a Economia Solidria no ter conseguido se impor na
estratgia central do governo neste perodo, conquistou espaos
importantes e demonstrou que possvel, a partir da ao do
Estado, em parceria com a sociedade e os movimentos sociais,
redirecionar o modelo de desenvolvimento brasileiro para uma
perspectiva emancipatria, tendo no trabalho associado, cole-
tivo e autogestionrio o eixo estruturante para uma nova so-
ciabilidade que aporte uma perspectiva de futuro para alm do
capital e da sociedade contempornea.
442
A Economia Solidria no Governo Federal: intersetorialidade,
transversalidade e cooperao Internacional
referncias bibliogrficas
Economia Popular Solidria: Alternativa Concreta de Radicalizao
da Democracia, Desenvolvimento Humano, Solidrio e Susten-
tvel. Anteag; Critas; CUT/ADS; Fase; Ibase; Pacs; Sedai/RS.
Porto Alegre, 2002.
Livro Azul da 4 Conferncia Nacional de Cincia e Tecnologia e Ino-
vao para o Desenvolvimento Sustentvel Braslia: Ministrio
da Cincia e Tecnologia/Centro de Gesto e Estudos Estratgicos,
2010 (Item: C,T&I para o desenvolvimento social, p. 89-95).
SCHIOCHET, Valmor. Institucionalizao das Polticas Pblicas de Eco-
nomia Solidira: breve trajetria e desafios. Revista Mercado de Tra-
balho, n. 40. Ipea. Rio de Janeiro, agosto de 2009.
SENAES/MTE. Economia solidria como estratgia e poltica de de-
senvolvimento. I Conferncia Nacional de Economia Solidria,
Documento Final, 2007.
. Pelo direito de produzir e viver em cooperao de manei-
ra sustentvel. II Conferncia Nacional de Economia Solidria,
Documento Final, 2010.
. Polticas pblicas de Economia Solidria: reflexes da
rede de gestores. Rede de Gestores de Polticas Pblicas de Eco-
nomia Solidria, Recife, Ed. Universitria da UFPE, 2008.
SINGER, Paul. A Economia Solidria no Governo Federal. Revis-
ta Mercado de Trabalho. Ipea. Rio de Janeiro, 24 de agosto de
2004.
443
polticas pblicas de economia solidria:
breve trajetria e desafios
Valmor Schiochet
Economia solidria um conceito utilizado para definir as
atividades econmicas organizadas coletivamente pelos trabalha-
dores que se associam e praticam a autogesto. As caractersticas
das organizaes econmicas solidrias fundamentam-se, segun-
do Singer, em duas especificidades: a) estimulam a solidariedade
entre os membros atravs da prtica da autogesto e, b) praticam
a solidariedade para com a populao trabalhadora em geral,
com especial nfase na ajuda aos menos favorecidos
Um dos princpios da Economia Solidria a apropriao
coletiva dos meios de produo, a gesto democrtica pelos mem-
bros das decises e deliberao coletiva sobre os rumos da pro-
duo, a utilizao dos excedentes (sobras) e, tambm, sobre a
responsabilidade coletiva quanto aos eventuais prejuzos da or-
ganizao econmica.
No Brasil, a Economia Solidria ressurgiu na dcada de
1980 como uma resposta dos/as trabalhadores/as e comunidades
pobres mobilizadas socialmente frente a crise social provocada
pela estagnao econmica a qual foram submetidas as socie-
dades perifricas no contexto das contradies da acumulao
capitalista. No entanto, a Economia Solidria ganha visibilidade
444
Polticas Pblicas de Economia Solidria: breve trajetria e desafios
na dcada seguinte quando se incorpora de forma mais visvel
s potencialidades transformadoras expressas nas lutas popula-
res. Assim, de uma resposta dos/as trabalhadores/as e comunida-
des empobrecidas a crise passa a ser reconhecida em seu carter
emancipatrio.
Uma agenda poltica sustentada em prticas econmicas
concretas: trabalhadores desempregados ocuparam fbricas fe-
chadas e ativaram sua produo por meio da sua organizao
coletiva e autogestionria; agricultores familiares e assentados
da reforma agrria organizaram cooperativas de crdito, de pro-
duo e de servios para se contrapor a subordinao agroin-
dstria capitalista; comunidades urbanas e rurais organizaram
coletivamente grupos de produo, compras coletivas, fundos
rotativos solidrios, crdito solidrio; populaes de catadores
de lixo (nos lixes e nas cidades) organizaram sua atividade de
coleta e reciclagem por meio de associaes e cooperativas, so
alguns dos exemplos da efervescncia da Economia Solidria.
A Economia Solidria pode ser entendida como uma pro-
posta socializante e democrtica dos movimentos questo so-
cial do final do sculo XX. No caso brasileiro, podemos afirmar
que a questo social se manifestou no acirramento do conflito e
das contradies existentes entre as conquistas democrticas do
processo de transio (universalidade constitucional de direitos
em 1988) e o crescente desemprego e excluso social decorrentes
da opo neoliberal adotada como poltica dominante.
Assim, a questo social que caracteriza a conjuntura nacio-
nal na dcada de 1990 tem seu contexto permeado pela derrota
do projeto democrtico popular (com perspectivas de reformas
estruturais profundas) em 1989 e o consequente descenso da luta
de massas, a desmobilizao e fragmentao do movimento sin-
dical e popular.
No mbito da ao do Estado frente s exigncias da cri-
se da acumulao do capital ocorreu a adoo de polticas que
445
Valmor Schiochet
representaram a crescente transferncia dos recursos pblicos
para o sistema financeiro, com a consequente reduo da respon-
sabilidade pblica para a questo social. Portanto, aquilo que se
chamou de Estado mnimo, nada mais foi do que um estado
mximo para o capital, na sua capacidade de transferncia de
recursos pblicos da sociedade para um determinado estrato da
classe dominante, mais estrangeiro do que propriamente nacio-
nal, e mnimo para atender aos direitos do povo e prover a nao
de um projeto de desenvolvimento.
Portanto, uma conjuntura permeada pelo desemprego, pre-
carizao, excluso, desigualdade, descenso da luta social e po-
ltica neoliberal compe o contexto da expanso da econmica
solidria, das experincias econmicas concretas, empreendi-
mentos econmicos solidrios e da crescente opo dos movi-
mentos sociais, sindical, universidades e organizaes populares
por uma nova forma de luta social, a partir da organizao eco-
nmica das pessoas.
No h como negar que a Economia Solidria foi uma es-
tratgia prpria da sociedade civil. No entanto, na medida em
que as foras democrtico-populares obtiveram xito na con-
quista de governos locais, a Economia Solidria passou tambm
a ser incorporada na agenda das polticas pblicas locais. Foi na
segunda metade na dcada passada que foram implantados os
primeiros programas e aes governamentais de apoio Econo-
mia Solidria.
1
Tais iniciativas ganharam maior relevncia e visi-
bilidade quando implantadas em municpios metropolitanos tais
como: Porto Alegre, So Paulo, Recife e Belm. Assim, a Econo-
mia Solidria emerge igualmente a partir da ao governamental
1
Em Blumenau/SC, no ano de 1997, institumos um programa de apoio s
formas cooperativas e associativas e a autogesto como estratgia da polti-
ca local de enfrentamento ao desemprego com a criao de uma coordena-
o especfica na estrutura do poder pblico municipal para sua gesto.
446
Polticas Pblicas de Economia Solidria: breve trajetria e desafios
e no apenas da sociedade civil. J existem anlises e avaliaes
publicadas sobre estas experincias. A prpria Secretaria Nacio-
nal de Economia Solidria, juntamente com a Rede de Gestores
de Polticas Pblicas de Economia Solidria promoveram estudos
e debates sobre elas.
2
preciso considerar tambm que a Economia Solidria
entrou na agenda das polticas governamentais como que pela
porta dos fundos. Refiro-me aqui s iniciativas de cooperao
econmica e autogesto surgidas no mbito dos programas de
gerao de trabalho e renda. Mesmo adotando a perspectiva da
empregabilidade (responsabilizao do trabalhador pelo empre-
go ou desemprego) volumes substantivos de recursos deste pro-
gramas foram apropriados pelo movimento social e sindical para
promover aes de qualificao profissional e apoio a projetos
de gerao de renda. Programas de gerao de trabalho e renda
tambm estavam presentes nas polticas assistenciais e de desen-
volvimento local. Muitos empreendimentos econmicos solid-
rios surgiram, por exemplo, no mbito do DLIS Programa de
Desenvolvimento Local e Integrado e Sustentvel e Planfor Pla-
no Nacional de Qualificao Profissional. Os dados do Sistema
Nacional de Informaes em Economia Solidria Sies tam-
bm demonstram a importncia do apoio governamental (vrios
rgos e instncias) para o surgimento da Economia Solidria no
pas ao longo da dcada de 1990.
Mas a partir das experincias dos governos populares que
a Economia Solidria foi se consolidando como uma poltica es-
pecfica integrando uma agenda de polticas pblicas crescente
nos planos e programas governamentais. Processo este que ocor-
reu a partir de um amplo e diverso experimentalismo de po-
2
Ver Senaes, Rede de Gestores de Polticas Pblicas de Economia Solidria.
Polticas Pblicas de Economia Solidria: Reflexes da Rede de Gestores.
Recife, Ed. Universitria da UFPE, 2008.
447
Valmor Schiochet
lticas de apoio Economia Solidria. Diversidade que pode ser
entendida em funo da especificidade das questes locais, das
compreenses polticas sobre o potencial da Economia Solidria
no enfrentamento das questes sociais, da priorizao poltica,
administrativa e oramentria das aes implementadas e dos di-
versos entendimentos sobre o significado da prpria Economia
Solidria. Observamos, por exemplo, em alguns governos, aes
mais aprofundadas do ponto de vista da ao e do consenso in-
terno com relao Economia Solidria e, em outros, aes mais
pontuais e residuais.
Do ponto de vista das polticas pblicas, a incluso da Eco-
nomia Solidria nas aes governamentais explicitava os limites
e contradies do Estado mnimo para o social, pois, a Eco-
nomia Solidria exigia uma posio cada vez mais ativa dos go-
vernos: compor equipes qualificadas de gestores, planejar aes
de longo prazo, viabilizar capacidade de alocao de recursos,
imiscuir o Estado na economia real das comunidades. De algu-
ma maneira, podemos afirmar que as exigncias da Economia
Solidria contriburam para a crtica das polticas neoliberais e
a defesa da participao mais ativa do Estado no enfrentamento
das questes sociais.
Este experimentalismo foi tomando corpo e maior organici-
dade com a disposio dos gestores para a troca de informaes
e experincias. Neste sentido, a constituio da Rede de Gestores
destas polticas permitiu um salto de qualidade para o debate e
prticas das agora denominadas polticas pblicas de Economia
Solidria. Isto porque a iniciativa dos gestores de dialogarem
entre si, trocarem experincias, saber o que estava sendo imple-
mentado nos municpios e Estados, realizar avaliaes crticas
foi consolidando uma compreenso de que havia unidade na di-
versidade. A Rede de Gestores foi fundamental para construir
um processo de identidade do que se entende hoje como poltica
pblica de Economia Solidria.
448
Polticas Pblicas de Economia Solidria: breve trajetria e desafios
A realizao de processos mais sistemticos de oficinas e
atividades formativas de gestores (ampliadas com o apoio da Se-
cretaria Nacional de Economia Solidria) permitiram a sistema-
tizao de documentos e declaraes sobre os princpios, as di-
retrizes, as caractersticas, os instrumentos e a institucionalidade
das polticas pblicas de Economia Solidria. Tal acmulo de
prticas e reflexes foi fundamental para a elaborao do texto-
base da Primeira Conferncia Nacional de Economia Solidria,
em 2006. Com as deliberaes da Conferncia Nacional as pol-
ticas pblicas de Economia Solidria passaram, de forma defini-
tiva, a compor a centralidade da estratgia poltica do movimen-
to de Economia Solidria no pas.
A prpria Conferncia Nacional e, em especial, a criao
da Secretaria Nacional de Economia Solidria e, posteriormente,
a criao do Conselho Nacional de Economia Solidria configu-
ram uma nova institucionalidade para as polticas de Economia
Solidria no pas.
No entanto, tais avanos polticos e institucionais ainda no
alteraram uma das principais caractersticas das polticas de Eco-
nomia Solidria: so polticas de governo, isto , sua existncia
depende dos partidos, coalizes ou grupos polticos que assu-
mem a direo do poder executivo. Assim, a Economia Solidria
ainda no foi incorporada na agenda dos direitos (da cidadania)
e dos deveres (pblicos). Esta a questo da institucionalizao
das polticas pblicas de Economia Solidria. Como incorporar
a Economia Solidria na agenda do Estado brasileiro? Como tra-
duzir as demandas e necessidades da Economia Solidria em di-
reitos dos/as trabalhadores/as e em dever do Estado? Como ga-
rantir que as aes governamentais permaneam para alm dos
processos eleitorais? Portanto, a questo da institucionalizao
das polticas pblicas de Economia Solidria refere-se a dois as-
pectos: a) de poltica de governo para poltica de Estado, enten-
dendo que ela representa uma possibilidade de que as polticas
449
Valmor Schiochet
governamentais sejam permanentes, porque so apropriadas pela
estrutura de Estado, no s a equipe de governo; b) que ela en-
tre no campo dos direitos, da constituio de sujeitos de direitos
e das obrigaes pblicas (deveres do Estado para assegurar este
conjunto de direitos).
Para aprofundar um pouco mais a problemtica da institu-
cionalizao das polticas de Economia Solidria , igualmente,
necessrio constatar seu carter de transversalidade. Em sua tra-
jetria elas foram forjando sua identidade no interior de outras
polticas, das polticas de trabalho e renda, de assistncia social,
de desenvolvimento rural, de desenvolvimento econmico, etc. A
Economia Solidria se apresentava como parte de outras polticas
e no como uma poltica especfica. Polticas setoriais ou temti-
cas que a precederam na agenda dos governos e do Estado e que
a englobaram. Muitas destas polticas possuem alto grau de ins-
titucionalizao e, algumas delas, so organizadas em sistemas
pblicos, a exemplo do Sistema Nacional de Emprego, Trabalho
e Renda, do Sistema nico de Assistncia Social ou do recente
Sistema Nacional de Segurana Alimentar e Nutricional. Portan-
to, ao se tratar da questo da institucionalizao, fundamental
incluir esta relao entre Economia Solidria e outras polticas.
Isto coloca novos desafios: como abordar a Economia Solid-
ria j includa em outras institucionalidades polticas existentes?
Como identificar as especificidades que permitem demonstrar
as particularidades dos direitos inerentes Economia Solidria?
Como dar institucionalidade prpria Economia Solidria sem
gerar sobreposio das aes?
O fato que a Economia Solidria vai ganhando um status
prprio. E, talvez, a criao da Secretaria Nacional de Economia
Solidria seja o marco histrico nesta direo, assim como a im-
plantao do Conselho Nacional de Economia Solidria e alguns
correlatos em algumas unidades da Federao. A Economia So-
lidria vai obtendo maior visibilidade no interior das estruturas
450
Polticas Pblicas de Economia Solidria: breve trajetria e desafios
dos governos com a criao de as coordenaes de Economia So-
lidria, departamentos de Economia Solidria, em alguns casos,
a exemplo da Unio, de secretarias de Economia Solidria. Pelo
menos, no mbito da atuao do poder executivo a Economia
Solidria vai se afirmando a partir de estruturas especficas de
gesto.
Na implementao destas polticas outro tema aparece com
destaque: a questo da participao e do controle social que,
aps a Constituio de 1988, se consolida na realizao das con-
ferncias nacionais, nos conselhos paritrios e em outros meca-
nismos. Os sujeitos da Economia Solidria vo disputar a pol-
tica nos conselhos j existentes ou construir um espao prprio
de participao e controle social da poltica? Quando foi criado
o Conselho Nacional de Economia Solidria e realizada a I Con-
ferncia Nacional de Economia Solidria, j se delineava uma
posio clara sobre esta questo. Tambm aqui o desafio o de
aprofundar a institucionalizao da participao e do controle
social, mas de forma a garantir os necessrios mecanismos de
articulao e a integrao da Economia Solidria com as outras
polticas pblicas reconhecendo suas especificidades, suas traje-
trias e seus sujeitos.
Para concluir, ainda permanece um desafio. Ns estamos
falando nas polticas em mbito de governo e como elas se consti-
tuem enquanto polticas mais permanentes. A, a proposio que
aparece como mais simples a ideia de que precisamos transfor-
mar nossos programas e nossas aes em legislao, em lei. Lei
municipal, estaduais e nacionais. Assim, estabelecidos a compre-
enso, a poltica, as aes com seus objetivos, seu pblico, seus
instrumentos e seus mecanismos de controle em lei, ns teramos
assegurados, do ponto de vista do Estado, a poltica enquanto
uma exigncia pblica para que os governantes operassem a po-
ltica, no seria mais uma opo de governo, seria uma exigncia
pblica para implementar as polticas.
451
Valmor Schiochet
Bem, em princpio, claro que isso fundamental, mas ns
precisamos ter clareza de que isso insuficiente ainda para se
institucionalizar a poltica, por qu? Porque a institucionalizao
da poltica no legalizar a poltica simplesmente, criar aquelas
condies da chamada hegemonia da Economia Solidria, ou ca-
pacidade que a Economia Solidria tem de certa direo cultural
e moral sobre a sociedade e sobre os governos para a implementa-
o de sua poltica. A lei por si s importante, mas no resolve o
problema da institucionalizao. Porque a institucionalidade no
legalizar simplesmente, criar as condies polticas para que
qualquer governo fique constrangido do ponto de vista social e
moral a implementar um conjunto de aes de apoio Economia
Solidria. Esta uma questo fundamental que deveramos apro-
fundar um pouco o debate sobre isso.
Portanto, j visualizamos avanos importantes do pon-
to de vista da direo da institucionalizao da poltica p-
blica de Economia Solidria no pas. H tambm definies
j tomadas que necessitam ser implementadas. As resolues
da I Conferncia Nacional propem a criao de um Sistema
Nacional de Economia Solidria, o fortalecimento do Conse-
lho Nacional de Economia Solidria, a implantao de con-
selhos nos Estados e municpios, e aponta para a urgncia de
uma legislao especfica para instituir formalmente os sujei-
tos, os direitos, os instrumentos para assegurar os direitos da
Economia Solidria. Isto a exemplo de alguns municpios e
Estados que j aprovaram em seus legislativos leis especficas
para a Economia Solidria.
Ao colocar na ordem do dia a questo da legislao (com
a apresentao pelo Conselho Nacional da proposta de Lei Na-
cional da Economia Solidria) a Economia Solidria amplia as
exigncias para a institucionalizao de sua poltica. Do poder
executivo e da sociedade civil h necessidade de participao dos
parlamentos. A criao de frentes parlamentares um indicativo
452
Polticas Pblicas de Economia Solidria: breve trajetria e desafios
deste avano. Alm da Frente Parlamentar, j existente no Con-
gresso Nacional, tambm existem outras frentes em assembleias
legislativas estaduais. Mas, mais do que apoiadores, a Economia
Solidria vai se deparar com outros interesses de classe represen-
tados (de maneira dominante) nos parlamentos. Neste caso, a ins-
titucionalizao requer a construo de consensos mais amplos.
No entanto, a ideia de tornar legal a poltica de Economia
Solidria por si s tambm pode ser ingnua. Em si, no a lei
(texto formal) que cria direitos e deveres. Ela somente se tornar
ao viva caso a Economia Solidria apresente fora poltica para
exigir a permanncia das iniciativas existentes. Esta fora depen-
de da fora tico-poltica originria de alianas e compromissos
entre a Economia Solidria e demais sujeitos e lutas emancipat-
rias existentes. Nesta fora est a perspectiva de que a criao de
novas institucionalidades signifique a afirmao de novos valores
e de novas bases para o processo de desenvolvimento.
referncias bibliogrficas
FRANA FILHO, Genauto C.; LAVILLE, Jean-Louis; MEDERIOS,
Alzira; MAGNEN, Jean-Fhilippe (org.) Ao Pblica e Econo-
mia Solidria. Uma Perspectiva Internacional. Salvador/Porto
Alegre: Edufba/UFRGS Editora, 2006.
SCHIOCHET, Valmor. Polticas Pblicas. In: CATTANI, A. D; LA-
VIILLE, J.-L.; GAIGER, L. I.; HESPANHA (coord.) Dicionrio
internacional da outra economia. Coimbra: Almedina , 2009.
SENAES. Rede de Gestores de Polticas Pblicas de Economia Solidria.
Polticas Pblicas de Economia Solidria: Reflexes da Rede de
Gestores. Recife: Ed. Universitria da UFPE, 2008.
; MTE. Economia Solidria como Estratgia e Poltica de
Desenvolvimento (I Conferncia Nacional de Economia Solid-
ria Documento Final), 2007.
453
polticas pblicas e economia solidria:
elementos para a agenda de uma nova rede
de proteo social
di A. Benini
Elcio G. Benini
introduo
H uma correlao importante entre relaes de trabalho,
institudas em uma determinada sociedade num determinado
contexto histrico, e a rede de proteo social que se estabelece
(ou mesmo a prpria existncia desta rede).
Entretanto, pensar em proteo social no faz sentido se
tambm no pensarmos nos seus sujeitos, no agente que garante
tal proteo (os Estados Nacionais) e, por fim, nos elementos que
conformam o seu processo social de constituio ou na constitui-
o de um conjunto de direitos (seguro-desemprego, previdncia,
13 salrio, entre outros).
Consultando a literatura, podemos constatar, de forma sin-
ttica, que o modelo predominante de proteo social, que se
consubstanciou nos pases do Welfare State e nos pases desen-
volvimentistas (Hobsbawm, 1995), especfico de um tipo de
relao de trabalho o trabalho formal assalariado. Ou ainda,
temos a formao de uma sociedade salarial, segundo anli-
se de Marques (1997). Convm notar que tal modelo, para ser
eficaz, apoiado em grande medida no pleno emprego, ou seja,
454
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
para que cada pessoa seja um cidado de fato (com condies
de desfrutar dos seus diretos e de uma vida digna), necessrio
que ele esteja formalmente registrado, com carteira de trabalho
devidamente assinada. Por sua vez, para que as vagas de empre-
go assa lariado sejam no apenas oferecidas, mas oferecidas na
mesma proporo que exige a demanda de empregos, algumas
variveis so chaves no sistema de trabalho formal assalariado,
como taxas de investimento produtivo, crescimento econmico,
forma de distribuio do aumento de produtividade, inovao
tecnolgica e competitividade.
Logo, em face da estrutura montada, na medida em que se
deterioram os indicadores de emprego formal, tm-se dois efeitos
diretos: aumento da excluso social e corroso das condies de
financiamento do sistema de proteo social, justamente quando
mais se precisa dele (nos casos como os que uma pessoa sem ren-
da regular enfrenta, contando, muitas vezes, apenas com o segu-
ro desemprego, polticas pblicas universais de educao e sade,
entre outros meios para sobreviver).
H ento duas formas gerais de ver e enfrentar a ques-
to:
A) Econmico por este enfoque, o argumento em essncia o
mesmo dos moldes do Welfare State, o de que preciso aumentar
o crescimento econmico, a competitividade e os investimentos
produtivos, variando apenas na titularidade de qual deva ser o
agente investidor (Estado ou iniciativa empresarial).
B) Poltico e social nesta perspectiva, muitos pesquisadores, po-
lticos e gestores propem a criao de sistemas estatais de trans-
ferncia direta de renda, tais como os casos dos programas de ga-
rantia de renda mnima, frentes de trabalho, bolsa escola e bolsa
famlia.
Entretanto, dentro de um contexto social problemtico, com
respostas de enfretamento quase sempre tmidas e insatisfatrias,
no surpreendente que outras respostas e questionamentos (no
455
di A. Benini | Elcio G. Benini
que se referem ao modelo de sociedade e de desenvolvimento que
adotamos) sejam elaborados no seio da sociedade civil. Entre elas,
localizamos ento a proposta da Economia Solidria. Para si-
tuar e comparar, de antemo a colocamos como uma proposta
que lana um outro olhar sobre as causas da excluso social dos
fluxos de renda. Na sequncia do nosso texto, inclumos ento
um terceiro enfoque:
C) Social e econmico aqui o enfoque adotado parte, essen-
cialmente, da reafirmao da centralidade da categoria trabalho,
ou seja, a explicao para as causas do desemprego e aumento
da misria est na prpria estrutura de organizao do traba-
lho montada. Segundo esta perspectiva, os aumentos simultneos
da produtividade e da competitividade apenas agravariam ainda
mais o quadro social de emprego e renda decrescentes, uma vez
que tais melhorias so apropriadas por poucos e no distribuda
socialmente ao conjunto da sociedade, por meio de aes como a
reduo sistemtica da jornada de trabalho, por exemplo. O ele-
mento mais forte da Economia Solidria , portanto, a consti-
tuio de outras relaes de trabalho e produo, pautadas pela
autogesto e pela propriedade social, dentro dos marcos institu-
cionais do modo de produo capitalista. Dessa forma, a orga-
nizao social do trabalho o determinante das possibilidades
econmicas de renda e riqueza societal.
Entretanto, para termos uma comunicao mais clara e evi-
tarmos apologias ou desqualificaes precipitadas, alguns escla-
recimentos devem ser feitos. Em primeiro lugar, preciso distin-
guir a proposta da Economia Solidria da sua prtica concreta, e
refletir em que medida ambas se influenciam ou se distanciam, o
que faremos mais detalhadamente em seguida.
Tambm preciso distinguir a Economia Solidria do
chamado terceiro setor e das propostas anarquistas ou so-
cialistas revolucionrias. At onde se conhece, ningum coloca
a constituio da Economia Solidria de forma abrupta (se-
gundo o conceito de revoluo), ou seja, expropriando os pro-
456
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
prietrios e quebrando contratos por meio da tomada imediata
do poder poltico. Quanto ao que se convencionou chamar de
terceiro setor, a distino est na forma de se trabalhar com
algumas categorias. Nele, a solidariedade pretendida muitas
vezes vertical, por meio de doaes e transferncias estatais.
Na Economia Solidria, a solidariedade de que estamos falan-
do horizontal, ou seja, um compromisso mtuo entre cada
trabalhador de repartir, da forma mais igualitria possvel, os
frutos da riqueza produzidos pelo processo produtivo coletivo,
seguindo outros critrios diferentes dos convencionais (como
o tempo de trabalho despendido no lugar das cotas de capi-
tal ou de propriedade possudas). Alm do mais, as entidades
e organizaes do terceiro setor esto voltadas para aes de
base no mercantil, pblicas ou sociais, como defesa do meio
ambiente e defesa das minorias; assim, no h a pretenso de
constituir um setor econmico produtivo baseado na autoges-
to (Economia Solidria).
Vamos ento, por item, analisar mais pormenorizadamente
a proposta e a prtica da Economia Solidria.
analisando a proposta
Como vimos, o elemento mais forte da Economia Solidria
a autogesto, referenciada principalmente pelos princpios do
cooperativismo, que nasceram em 1844, a partir da experincia
de uma organizao cooperativa chamada pioneiros de Rochda-
le e inspirados nas ideias de Robert Owen. Porm, a autogesto
tambm tem outras origens tericas clssicas, como Proudhon,
Fourier, e mesmo no marxismo, sendo refletida por Marx, Rosa
Luxemburgo e Anton Pannekoek. Entre as aes realizadas his-
toricamente (alm das cooperativas industriais inglesas), pode-
mos citar a Comuna de Paris e os Conselhos Operrios (Guillerm
& Bourdet, 1997).
457
di A. Benini | Elcio G. Benini
Eis os princpios que at hoje so a base do cooperativismo:
1. Livre e aberta adeso dos scios
2. Gesto e controle democrtico dos scios
3. Participao econmica do scio
4. Autonomia e independncia
5. Educao, treinamento e informao
6. Cooperao entre as cooperativas
7. Interesse pela comunidade
Muito se fala em ressurgimento da Economia Solidria.
Isto se deve justamente retomada dos princpios do cooperati-
vismo, e principalmente recuperao da essncia que provocou
a sua elaborao, qual seja, a luta contra a explorao do traba-
lho por meio da auto-organizao dos prprios trabalhadores.
Nesse sentido que os atores e sujeitos da Economia Solid-
ria, hoje no Brasil, retomam os princpios do cooperativismo sob
uma nova nomenclatura, recolocando-os como uma bandeira de
transformao social e reafirmando a centralidade da autogesto.
Muitas so as instituies, pesquisadores e militantes que
podem ser considerados sujeitos da proposta da Economia So-
lidria, cada qual de origem diversa e com fundamentaes teri-
cas muitas vezes distintas. Dessa forma, para ilustrar melhor, te-
mos iniciativas na Igreja, por meio do Critas; nas universidades,
pela iniciativa de criao de incubadoras tecnolgicas de coope-
rativas populares, as chamadas ITCPs; no movimento sindical,
cujas figuras expressivas so a Anteag (Associao dos Traba-
lhadores em Empresas de Autogesto) e a ADS-CUT (Agncia de
Desenvolvimento Solidrio); e o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), que em alguns assentamentos utiliza
a organizao cooperativa. Mais recentemente, tais instituies
tm conquistado a incluso, nas agendas governamentais, de pro-
gramas de apoio e estmulo Economia Solidria, nosso foco de
ateno.
458
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
Apesar de toda a diversidade de origens, insistimos em algu-
mas convergncias-chave. A primeira e mais forte sem dvida a
autonomia e autodeterminao dos trabalhadores, em outras pa-
lavras, a autogesto. Tal opo tem inspirado aes prticas na
criao de empresas e cooperativas baseadas nos princpios do
cooperativismo, como veremos adiante.
O que justifica a atualizao dos princpios do cooperati-
vismo e sua sofisticao pelo termo Economia Solidria , em
parte, a crise do trabalho assalariado (como j argumentamos).
Entretanto, h outra questo em jogo: a necessidade de se depu-
rar aqueles princpios de algumas prticas cooperativistas que
vm ocorrendo. Em alguns casos, o uso da figura jurdica co-
operativa feito muito mais para precarizar o trabalho do que
para emancipar o trabalhador ( comum uma empresa promo-
ver seus trabalhadores para a condio de cooperados, com
isto, no precisar mais recolher direitos trabalhistas e pagar f-
rias ou o 13 salrio), assim so as chamadas cooperfraudes ou
coopergatos. H ainda prticas cooperativistas que utilizam
trabalho assalariado em grande escala, fazendo com que uma
coope rativa desse tipo seja uma realidade de poucos scios e mui-
tos empregados, traduzindo, uma realidade de heterogesto e no
de autogesto.
Alm disso, pode-se tambm observar que a forma organi-
zacional das cooperativas, por meio de unidades de produo dis-
sociadas, e cotas de propriedade privada (de grupos) dos meios de
produo, ainda so resqucios da forma assalariada de trabalho,
que a proposta de novas relaes de trabalho, provavelmente,
dentro de um novo contexto de contradies e enfrentamento,
dever enfrentar e superar.
O termo solidariedade tambm no fortuito. Outra
convergncia entre as propostas e discusses sobre Economia
Solidria a opo por modos de vida e de sociabilidade solid-
rios e no competitivos, em outras palavras, a opo pela solida-
459
di A. Benini | Elcio G. Benini
riedade enquanto compromisso poltico horizontal. H aqui uma
distino sutil, mas fundamental: o projeto de se constituir uma
economia baseada na solidariedade se contrape a uma compe-
tio de tipo mercantil e orientada para a acumulao contnua
e ilimitada, e no a competitividade, se a entendermos como
a busca por melhorias e aumento de produtividade e eficincia.
Uma competio pela competio (de tipo predatrio, excluden-
te, ou divergente) no apenas gera poucos vencedores e muitos
perdedores, mas tambm utiliza o trabalho como forte fator de
ajuste face aos imperativos mercantis. Concretamente falando,
no raramente uma das estratgias de competitividade inter-
nacional justamente a precarizao do trabalho e intensificao
do seu ritmo, sem falar dos casos nos quais outros artifcios de
espoliao do trabalho so utilizados (como, por exemplo, o uso
de trabalho infantil).
Ainda decifrando o termo solidariedade, existe tambm
uma preocupao com o meio ambiente, ainda no de forma
prioritria, mas que vem ganhando espao nos debates, princi-
palmente no que se refere aos limites do crescimento econmico,
tema que j foi objeto de vrias pesquisas e agora retomado
no contexto da Economia Solidria com destaque para os es-
tudos de Furtado, que desde os anos 1970, j nos alertava para
o mito do desenvolvimento econmico (1974). Seu argumento
principal era sobre a impossibilidade material dos pases do sul
(pobres) imitarem os padres de consumo do norte (ricos). Para
que tal fato seja possvel, precisaramos, segundo sua anlise, de
dois ou trs planetas iguais ao nosso, dada a dimenso da deman-
da sobre os recursos naturais que seria necessria. Se considerar-
mos que para se criar novos empregos seria preciso, no contexto
do trabalho assalariado, cada vez maiores taxas de crescimento
econmico e, por sua vez, mais explorao de recursos naturais
(mesmo considerando o aumento da produtividade, uma vez que
este aumento no socializado), fica muito claro os limites estru-
460
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
turais que se impem. Precisamos tambm explicitar que tais li-
mites no so apenas materiais, mas tambm sociais e at mesmo
morais (uma vez que o consumo dos recursos naturais do planeta
tem impacto direto nas condies de sobrevivncia de milhares,
ou at milhes, de espcies de plantas e animais patrimnio da
humanidade sob grave ameaa).
Constituir um modelo de desenvolvimento que, para gerar
renda e emprego para todos, dependa cada vez mais da explora-
o incessante dos recursos naturais do planeta, por meio de ta-
xas cada vez maiores de crescimento econmico, uma questo
ainda pouco abordada pela importncia que possui. Nesse con-
texto, podemos observar que tal problemtica est presente na
proposta da Economia Solidria, porm uma realidade mais
como um dever ser normativo, que aos poucos vai se consubs-
tanciando em instrumentos e aes concretas.
Finalizando nossa anlise sobre a proposta da Economia
Soli dria, no podemos deixar de notar tambm algumas lacunas.
Dessa forma tema que no tem sido abordado, at o
momen to, no contexto da Economia Solidria (ou tem sido de
forma muito marginal) so as patologias e disfunes causadas
pelo trabalho burocrtico hierarquizado (o oposto da autoges-
to). interessante notar que pouco ou quase nada se fala das
crticas s teorias organizacionais elaboradas por Motta (1981),
Tragtenberg (1974) e a questo do sofrimento humano, causa-
do pelas relaes de subordinao prpria da heterogesto, assim
descrito por Dejours (1999). Esses conhecimentos, sem dvida
alguma, contribuem para se pensar em relaes de trabalho mais
humanas e mais condizentes com uma vida digna.
analisando os programas
Conquista recente da Economia Solidria, enquanto mo-
vimento social, foi sua introduo em algumas agendas gover-
461
di A. Benini | Elcio G. Benini
namentais, expressa dentro do contexto dos programas de es-
tmulo ou apoio aos empreendimentos solidrios, sendo estes
legitimados pela busca de gerao de trabalho e renda para os
seres humanos.
Nossa inteno aqui no discutir as caractersticas de cada
programa e seus resultados, ou mesmo realizar um estudo sob
um prisma comparativo, mas sim evidenciar que, quando cada
experincia governamental prope equacionar minimamente a
viabilidade de empreendimentos solidrios, segundo suas pos-
sibilidades polticas e institucionais, cria-se uma diversidade de
casos e estratgias, cada qual focalizando mais um determinado
aspecto ou dimenso da proposta de Economia Solidria do que
outro. Com o conjunto das iniciativas j em curso, possvel,
ento, vislumbrar elementos-chave e caractersticas do que pode
vir a ser um novo sistema de proteo social, baseada nos direitos
sociais dos trabalhadores agentes da autogesto.
As fontes de dados para essa anlise foram as experincias
dos programas de Economia Popular Solidria, no Estado do Rio
Grande do Sul e na Prefeitura de Porto Alegre e, mais detalha-
damente, os programas Oportunidade Solidria, da Prefeitura
Municipal de So Paulo, e a Incubadora de Cooperativas, da Pre-
feitura Municipal de Santo Andr, sendo que nos dois ltimos
casos foi realizada uma pesquisa in loco.
Esta pesquisa teve o objetivo de mapear os principais ele-
mentos dos programas e suas inter-relaes, por meio de entre-
vista semiestruturada com os gestores e, em seguida, uma din-
mica de grupo e levantamento de algumas informaes objetivas
de casos de incubao (cooperativa). Para a seleo do caso a ser
estudado, nossa opo foi por uma seleo livre feita pelos pr-
prios gestores, segundo seu critrio de caso bem-sucedido, sob a
condio de justificarem explicitamente os motivos da escolha.
Procedemos assim por entender que tais aes, polticas pbli-
cas voltadas para a Economia Solidria, so incipientes, logo, a
462
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
amostragem e sorteio no seriam mtodos eficazes para enten-
dermos melhor prticas desenhadas para a Economia Solidria.
Como procedimento metodolgico, inicialmente buscamos
enfocar aspectos mais estruturais, centralizando nossa ateno
para o desenho daquelas polticas pblicas e sua relao com a
proposta da Economia Solidria.
A principal identidade entre aqueles programas , obvia-
mente, o objetivo de fomentar empresas autogestionrias (por
isso foram escolhidas para o estudo). Observamos que nenhum
programa aborda todas as problemticas (de viabilizao da Eco-
nomia Solidria) simultaneamente, de forma articulada e comple-
ta, porm cada qual contribui com sua perspectiva particular.
O tipo de empresa autogestionria que predomina so as
chamadas cooperativas populares, assim denominadas porque
o pblico alvo dos programas de Economia Solidria so as cate-
gorias mais vulnerveis da populao: desempregados em geral ,
desempregados de longa durao, catadores de lixo, egressos
do sistema penitencirio, aposentados, entre outros. O qualita-
tivo popular significa, ento, a priorizao para os socialmen-
te exclu dos da riqueza societal produzida. Em apenas um caso
observamos a opo por incubar qualquer tipo de cooperativa,
desde catadores de lixo at grupo de psiclogos. Este ltimo nos
fornece uma reflexo valiosa: o equvoco de se focar apenas os
grupos mais vulnerveis. Com efeito, possvel tambm visuali-
zar a prpria criao de um setor econmico, ou seja, de consti-
tuio de um conjunto de empreendimentos autogestionrios que
se reforariam mutuamente. Advogamos ento que focar apenas
cooperativas populares pode ser prejudicial at mesmo para elas
prprias, que ficariam impossibilitadas de se articular nas cha-
madas cadeias produtivas solidrias, ou mesmo de buscar ou-
tras inovaes institucionais e/ou organizacionais.
H tambm algumas outras variaes, mas no geral a aten-
o dispensada para com as dimenses de educao e formao
463
di A. Benini | Elcio G. Benini
em autogesto e treinamento em um tipo especfico de negcio.
Cada qual criando sua prpria metodologia de trabalho num pro-
cesso de aprender fazendo. Somente os casos do Rio Grande
do Sul e Porto Alegre, por serem pioneiros, tm sido, de algum
modo, referncia para outras iniciativas.
Entre as variaes (o que cada programa tem de particular),
temos claramente estratgias diferenciadas para a viabilizao
dos empreendimentos, cada caso selecionando a sua priorida-
de. Destacamos as seguintes preocupaes: a questo tecnol-
gica (com bolsas de incentivo a pesquisa); a constituio de uma
rede de Economia Solidria; o financiamento e os crditos (com
a criao de cooperativas de crditos e articulao com ban-
cos do povo); e, por fim, questes referentes ao assessoramen-
to contnuo e comercializao (apoiando a organizao de fei-
ras especficas e redes de trocas solidrias). Tambm bastante
varivel o apoio que se d para as pessoas sobreviverem, at que
seja possvel obter renda da cooperativa que se almeja construir.
Em alguns casos, utiliza-se de programas de transferncia direta
de renda, como porta de entrada para os programas de incuba-
o, em outros, no h nada do gnero.
No que se refere aos beneficirios dos programas de Eco-
nomia Solidria, correto afirmar que, entre aqueles pesquisa-
dos, a maioria no tinha qualquer conhecimento anterior sobre
coopera tivismo e muito menos sobre autogesto (um termo mui-
to vago at mesmo para os que j foram incubados). Nesse
contexto, sua principal motivao a oportunidade de renda,
sendo poucos os casos de busca por outras relaes de trabalho
que no as do trabalho assalariado. Entretanto, h de se notar
que aps experimentar uma realidade de trabalho cooperativo,
a afirmao passa a ser outra: no querem voltar a ser assalaria-
dos ou somente o querem por questes financeiras e por falta de
escolha, ou seja, se uma cooperativa possibilitar ganhos iguais ou
no muito inferiores aos de uma empresa tradicional, sua opo
464
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
claramente pelo trabalho cooperativo (autogestionrio). Consta-
tamos, assim, um ganho evidente em termos de criao de outra
sociabilidade, esta de cunho mais solidrio e participativo, ex-
presso no apenas na preferncia em permanecer na cooperativa,
mas tambm na satisfao de ser agente do seu empreendimento,
podendo opinar e contribuir ativamente com o andamento do
negcio, segundo os depoimentos apurados.
Nota-se tambm que nem todos aderem aos princpios da
Economia Solidria, por esse mesmo motivo que sua adeso
livre, ningum obrigado a permanecer em uma cooperativa ou
empresa de autogesto sem seu livre consentimento. Entretanto,
notamos ainda, nas pesquisas de campo que, enquanto na socie-
dade como um todo raro qualquer discurso ou ao de traba-
lhadores ou mesmo dos excludos pr-autogesto, tal situao
muda, brutalmente, quando dada a oportunidade de se conhe-
cer os princpios do cooperativismo, ficando apenas uma peque-
na porcentagem desconfiada da Economia Solidria. Desse
cenrio, podemos inferir que, na verdade, falta algum tipo de
divulgao e socializao de conhecimentos mais crticos, para
que as pessoas possam, efetivamente, optar pelo tipo de trabalho
que mais lhe agrada ou que lhe supre melhor seus anseios.
De modo geral, podemos definir os pontos-chave das aes
voltadas para o estmulo (fomento) e apoio dos empreendimentos
e cooperativas autogestionrias (Economia Solidria):
a) Formao: em geral as pessoas, beneficirias dos progra-
mas e instituies promotoras da Economia Solidria, pouco ou
nada sabem sobre cooperativismo ou sobre autogesto. Faltam
conhecimentos histricos, tericos e, principalmente, conheci-
mentos e instrumentos prticos, ou seja, o modo de se traba-
lhar como sujeito dentro de um coletivo, como ser agente de
um empreendimento, como se relacionar com os demais colegas,
enfim, como viver a autogesto no dia a dia e efetivar decises
coletivas;
465
di A. Benini | Elcio G. Benini
b) Conhecimentos sobre negcios e sobre como administr-
los: preciso tambm disponibilizar conhecimento mnimo sobre
o negcio que se pretende instalar, e sobre sua administrao
cotidiana: contas, compras, pagamento de impostos, estoques,
vendas etc.;
c) Tecnologia: a produo tecnolgica, em geral, tambm
pautada, sutilmente, pela forma do trabalho subordinado, logo,
ainda h poucos instrumentos e tcnicas especialmente desenvol-
vidos para uma realidade autogestionria e disponibilizada para
as cooperativas populares;
d) Crdito: em geral o crdito disponvel ou caro ou ex-
cessivamente burocrtico. Muitas aes tm sido desenvolvidas
no sentido de criar instituies e mecanismos mais adequados
para a realidade da Economia Solidria, como as cooperativas de
crdito e os bancos do povo;
e) Renda: uma das condies para que as pessoas possam
se dedicar a aprender e construir a sua cooperativa est jus-
tamente na quebra da sua vulnerabilidade mais direta: renda.
Suprir esta necessidade significa dar a capacidade para que os
grupos excludos tenham tempo e condies mnimas de vida e
sobrevivncia e, na sequncia, poderem se dedicar aos mdulos
do programa de incubagem ou fomento Economia Solidria
cursos de qualificao, aprender seu negcio at que possam
caminhar por conta prpria;
f) Tempo: Os prprios gestores questionam a adequao do
tempo esperado para que um grupo forme uma cooperativa, le-
galize e adquira um fluxo de renda sustentvel. Normalmente, o
tempo de referncia seria o de um curso de qualificao: seis me-
ses, no mnimo, at um horizonte de dois anos. Entretanto, o que
algumas pesquisas e gestores apontam que o adequando seria
um espao temporal de cinco anos em mdia.
Observamos que o foco dos programas de Economia Soli-
dria no a criao de mecanismos de transferncia de renda,
466
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
mesmo se considerarmos que sua justificativa mais forte a gera-
o de trabalho e renda. Sua natureza ento distinta da dos pro-
gramas de tipo renda mnima, bolsa famlia e frentes de trabalho.
Contudo, aqueles programas podem ser claramente inclu-
dos na proposta de Economia Solidria, cujo enfoque social e
econmico. Comparando de forma simplificada, vejamos:
tabela 1 setores sociais e respostas de gerao de renda
Enfoque: Econmico Poltico e Social Social e Econmico
Causas do
desemprego:
Demanda agregada,
competitividade
Eficcia e eficincia
das aes estatais
Relaes de trabalho
e produo
Tipos de
aes:
Investimentos
produtivos e
crescimento
econmico
Rede de proteo
social, mecanismos
de transferncia
direta de renda,
qualificao
profissional
Estmulo e
viabilizao de
empreendimentos
autogestionrios
Forma do
trabalho:
Trabalho assalariado
e regulao estatal
Trabalho assalariado
e assistncia estatal
Trabalho
autogestionrio e
apoio estatal
Cidadania
efetivada por
meio de:
Pleno emprego Direitos sociais
atendidos por meio
de polticas pblicas
de transferncia de
renda
Direitos sociais
atendidos por meio
de polticas pblicas
de estmulo e apoio
Economia Solidria
Exemplos de
Programas
Investimentos
estatais,
investimentos
empresariais, linhas
de crdito para
grandes projetos
Programa de garantia
de renda mnima,
bolsa famlia, bolsa
escola e frentes de
trabalho
Programas de
fomento e/ou apoio
Economia Solidria
Elaborado pelos autores.
Mesmo com tais diferenciaes, legtima e necessria
tambm, nos programas de Economia Solidria, a utilizao
de mecanismos de transferncia direta de renda, mas sempre na
perspectiva de criao e viabilizao de cooperativas populares,
467
di A. Benini | Elcio G. Benini
suprindo a lacuna inicial de renda e crdito, somente equaciona-
dos quando a cooperativa ou empreendimento autogestionrio
estiver efetivamente produzindo.
Em resumo, um ponto forte dos programas voltados para a
Economia Solidria o perfeito entendimento do seu pressuposto
mais bsico: o valor fundamental da autogesto. Entre os princi-
pais pontos fracos, temos os relativos ao pouco tempo de incuba-
gem disponvel, priorizao apenas para as cooperativas popula-
res e pouca ou nenhuma disponibilidade de garantia de renda no
perodo de nascimento e constituio do empreendimento, fato
ainda mais problemtico para os grupos socialmente excludos.
Com base no material pesquisado, finalizamos este item
apontando os elementos bsicos para a constituio de polticas
pblicas de apoio e/ou fomento da Economia Solidria que, se
levados a efeito no conjunto e com seriedade, so um verdadeiro
embrio para um sistema de proteo social de novo tipo, vol-
tado para os direitos sociais dos trabalhadores autogestionrios.
Temos ento:
A Aes de fomento e estmulo:
Programas de incubagem e pr-incubagem (formao do
grupo, noes preliminares de autogesto e cooperativismo, es-
colha do negcio, formalizao);
Qualificao profissional bsica;
Aulas de administrao;
Aulas sobre conhecimentos jurdicos bsicos;
Formao em autogesto e cooperativismo;
Pesquisa de mercado;
Disponibilidade de mecanismos de garantia de renda.
B Aes de apoio:
Assessorias tcnica e jurdica;
Qualificao profissional avanada;
468
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
Disponibilidade de crdito;
Mecanismos que facilitam a comercializao e a criao de
redes de Economia Solidria, na perspectiva de potencializar ter-
ritrios;
Criao de conhecimentos e tecnologia adequados;
Valorizao social e cultural da Economia Solidria;
Estatuto da Economia Solidria e jurisdio adequada;
Garantias para a autonomia das empresas solidrias e dos
envolvidos;
Incluso nos currculos escolares de temas como cooperati-
vismo e autogesto;
Sistemas de redistribuio e articulao horizontais interorga-
nizaes da Economia Solidria, tendendo a uma estrutura cada
vez mais integrada.
Tal conjunto de elementos permite refletir melhor sobre ou-
tro marco institucional de proteo social ou uma nova concep-
o do mesmo, sem necessariamente substituir o atual, mas sim
para se ter uma outra opo vivel de trabalho e proteo mais
adequada para uma realidade que vem ganhando espao e im-
portncia no contexto brasileiro.
concluso
Considerando que a proposta de constituio da Economia
Solidria significa, em essncia, a desmercantilizao do trabalho
em novas relaes de produo, e esta estrutura demanda, entre ou-
tras aes, uma nova concepo de proteo social, h importantes
elementos estruturantes em ebulio nesse processo. Com isso, o
papel do Estado, em relao ao trabalho, igualmente muda de quali-
dade, na medida em que tais estruturas avancem e se consolidem.
Como aes de resistncia, no contexto de subordinao do
trabalho ao sistema econmico dominante, provavelmente cabe-
469
di A. Benini | Elcio G. Benini
r ao fundo pblico, por meio dos Estados Nacionais, aglutinar
e instituir um novo tipo de proteo social.
Como aes de superao da subordinao do trabalho,
colocando a organizao social da produo como determinan-
te das formas econmicas de produo e gerao da riqueza so-
cial, o aspecto de fomento, apoio e proteo poder ceder lugar,
na agenda das polticas pblicas, para outros tipos de aes, de
cunho estruturante.
Dessa forma, no se pode ainda vislumbrar claramente qual
ser este papel at porque fruto de um processo social e no
de um simples evolucionismo mas j existem vrios indcios,
hoje, de quais so as agendas de luta para se sustentar a proposta
de Economia Solidria.
Vimos tambm que a pretenso, pelo menos inicial, do mo-
vimento da Economia Solidria, no realizar qualquer ruptura
radical, mas sim ser radical (no que diz respeito centralidade
da autogesto) nos espaos conquistados no seio da sociedade
civil. Sua legitimidade cresce medida que a autogesto passa
a significar um direito efetivo (mais que um modo de gerenciar
ou subordinar o trabalho, seja em que forma for) e tambm na
medida que aumenta o nmero de trabalhadores sem carteira as-
sinada, precarizados, ou margem dos sistemas tradicionais de
proteo social.
Logo, optar por essa forma de trabalho tende a ser, num pri-
meiro momento, uma questo aberta a cada um, conforme suas
condies de vida e viso de mundo. Porm, a sustentao de se
formar, ao menos, alguns espaos de uma economia baseada na
solidariedade, uma tarefa que precisa ser viabilizada e pensada
no seu conjunto, bem como estar apoiada por polticas pblicas
adequadas e articuladas, sempre com a perspectiva do avano da
emancipao social por meio da integrao econmica do tra-
balho, condio para que seu objetivo seja justamente o de criar
condies plenas de vida das pessoas, tendo o trabalho autoges-
470
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
tionrio como horizonte, e no como uma viso estritamente mo-
netria ou de tipo salarial, cujo enfoque seja apenas na criao de
meios de se obter proventos e/ou renda para sobrevivncia dentro
da lgica social mercantil.
referncias bibliogrficas
ARRUDA, M. O Feminino Criador: Socioeconomia Solidria e
Educao. Texto apresentado na Reunio Anual da Anped/Pacs,
setembro de 1998.
ARAJO, Carolina Lopes. As Cooperativas de Seringueiros como ins-
trumento de desenvolvimento local. IX Colquio internacional
sobre poder local. Salvador (BA), 15 a 19 de junho de 2003.
AZEVEDO, Alessandra Bandeira Antunes. Inovao tecnolgica em
empreendimentos autogestionrios: Utopia ou possibilidade. IX
Colquio internacional sobre poder local. Salvador (BA), 15 a 19
de junho de 2003.
BENINI, E. A. Economia Solidria, Estado e Sociedade Civil: um novo
tipo de poltica pblica ou uma agenda de poltica pblicas? In:
DAL RI, N. M. & Vieitez, C. G. Revista Orga nizao e Demo-
cracia. Marlia: Unesp, 2003.
. Polticas Pblicas e Relaes de Trabalho estudo
sobre o processo e natureza da denominada Economia So-
lidria, enquanto poltica pblica, a partir da investigao
de alguns casos concretos. Dissertao (mestrado) Escola
de Administrao de Empresas de So Paulo: Eaesp-FGV, So
Paulo, 2004.
BENINI, E. G. Economia Solidria em questo estudo sobre as pos-
sibilidades e limites de insero e emancipao social no capita-
lismo, a partir de um estudo multicasos. Dissertao (mestrado)
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul UFMS. Campo
Grande, 2008.
COSTA, Pedro de Almeida. Procurando desvendar uma nova lgica
de trabalho: um relato de trs oficinas de gesto para empreendi-
mentos de Economia Solidria. IX Colquio internacional sobre
poder local. Salvador (BA), 15 a 19 de junho de 2003.
DEJOURS, Christophe. A banalizao da injustia social. Rio de Ja-
neiro: Fundao Getlio Vargas, 1999.
471
di A. Benini | Elcio G. Benini
ECONOMIA POPULAR SOLIDRIA Pesquisa/Ao: regies Altos
da Serra, Grande Porto Alegre e Sul / RS. Centro de Assessoria
Multiprofissional (Camp), 2002.
FERNADES, R. C. Privado porm pblico. Rio de Janeiro: Relume -
Dumar, 2000.
FIORI, J. L. (org.). Estado e moeda no desenvolvimento das naes .
Petrpolis: Vozes, 2000.
FRANA FILHO, G. C. de. Terceiro Setor, Economia Social, Econo-
mia Solidria e Economia Popular traando fronteiras concei-
tuais. In: BAHIA ANLISE & DADOS. Salvador, SEI, v. 12, n.
1, jun. 2002.
FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econmico. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1974.
. O capitalismo global. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.
GUILLERM, Alan e BOURDET, Yvon. Autogesto: uma mudana ra-
dical. Traduo de Hlio Plvora). Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
MANZINI-COVRE, Maria de Lurdes. O que cidadania. So Paulo:
Brasiliense, 1995.
MARQUES, Rosa Maria. A proteo social e o mundo do trabalho.
So Paulo: Bienal, 1997.
MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro:
Zahar Editores, 1967.
MARX, Karl. O capital crtica economia poltica, v. I, Lisboa, 1990.
MOTTA, F. C. P. Burocracia e Autogesto a Proposta de Proudhon.
So Paulo: Brasiliense, 1981.
. Organizao e Poder. So Paulo: Atlas, 1986.
ROSENFIELD, Cnara L. A autogesto e a nova questo social: repen-
sado a relao indivduo-sociedade. Trabalhadores, sindicados
e a nova questo social. GT Anpocs. Seminrio intermedirio.
USP, 2003.
SINGER, Paul. Globalizao e desemprego diagnstico e alternati-
vas. So Paulo: Contexto, 1998.
. Introduo a Economia Solidria. So Paulo: Contexto,
2001.
. Economia Solidria. In: SANTOS, Boaventura de Souza
(org.). Produzir para viver. Os caminhos da produo no capi-
talista. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002.
SILVA, F. L. G. Gesto da Fora de Trabalho e Capital. In: Estudos de
Sociologia, Faculdade de Cincias e Letras Unesp Campus de
Araraquara, ano 2, n. 3, p. 35-54, So Paulo, 1997.
472
Polticas Pblicas e Economia Solidria: elementos
para a agenda de uma nova rede de proteo social
. A fbrica como agncia educativa: a gesto da fora de
trabalho no sistema Toyota de produo. Faculdade de Cincias e
Letras UNESP Campus de Araraquara. In: Temas, ano 5, n. 4,
p. 163-193, So Paulo, 1998.
TRAGTENBERG, Maurcio. Burocracia e Ideologia. So Paulo: tica,
1974.
473
sobre os autores
adilson Gennari
Professor do Departamento de Economia da Unesp campus
de Araraquara. Autor de Rquiem ao capitalismo nacional, pela
Editora Cultura Acadmica, e Histria do Pensamento Econmi-
co, pela Editora Saraiva. economista (PUC-SP), doutor em Cin-
cias Sociais (Unicamp) e ps-doutorado na Universidade de Coim-
bra. Coordenador do Grupo de Pesquisa em Histria Econmica e
Social Contempornea (GPHEC). E-mail: gennari@fclar.unesp.br
claudio nascimento
Trabalhou como educador da Recid (Rede Educao Cida-
d) Secretaria Geral da Presidncia da Repblica. Assessor do
CFES (Centro de Formao em Economia Solidria) nacional.
Ex-coordenador de educao em Economia Solidria da Senaes
(Secretaria Nacional de Economia Solidria). Autor de vrios en-
saios sobre Autogesto, Economia Solidria, Pedagogia da auto-
gesto e socialismo autogestionrio. Professor convidado do cur-
so de especializao Economia Solidria e Tecnologia Social na
Amrica Latina (Unicamp). E-mail: claudan@terra.com.br
di a. benini
Possui graduao em Administrao Pblica pela Unesp
(1999) e mestrado em Administrao Pblica e Governo pela Fun-
dao Getlio Vargas Eaesp/FGV (2004). Atualmente profes-
sor assistente da Fundao Universidade Federal do Tocantins
UFT e ex-coordenador do curso de Administrao (graduao)
e coordenador do curso Gesto Pblica e Sociedade (especializa-
o), participando tambm em vrios projetos em parcerias com
474
os movimentos sociais. Tem experincia na rea de Cincia Po-
ltica, com nfase em Desenho de Programas e Implementao,
atuando principalmente nos seguintes temas: polticas pblicas,
Economia Solidria, autogesto, qualidade de vida e administra-
o pblica. E-mail: edibenini@hotmail.com
elcio G. benini
Mestre em Agronegcios pela Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (2008). Tem experincia na rea de Administra-
o, com nfase em Teoria das Organizaes e Economia Solid-
ria. Atualmente professor assistente nos cursos de Administra-
o Pblica, modalidade a distncia, e Cincias Econmicas, na
Universidade Federal de Mato Grosso de Sul, e aluno do Progra-
ma de Doutorado em Educao da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul. E-mail: elciobenini@yahoo.com.br
fabiana de cssia rodrigues
formada em Cincias Econmicas pela Unesp, possui mes-
trado em Histria Econmica pelo Instituto de Economia da Uni-
camp. Atualmente cursa o doutorado na Faculdade de Educao
da Unicamp e professora licenciada do Centro Universitrio Sale-
siano (Unisal). autora da dissertao O papel da questo agrria
no desenvolvimento do capitalismo nacional, entre 1950 e 1964.
No doutorado, pesquisa a relao entre a questo agrria e a edu-
cao. Membro do Instituto Brasileiro de Estudos Contemporne-
os (Ibec) e do Histedbr Campinas. E-mail: faby.rod@bol.com.br
fbio sanchez
Socilogo, doutorando em Sociologia na Universidade de
So Paulo. Foi coordenador Executivo da ITCP/USP de 1999 a
2001. Em 2002 assessorou o projeto Incubadores 2001, desen-
volvido pela Fundao Unitrabalho em parceria com a Icco. Foi
chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Economia Solid-
475
ria de 2003 a 2005 e Secretrio Nacional Adjunto de Economia
Solidria de 2005 a 2011. E-mail: fjbsan@usp.br
felipe silva
Professor aposentado da FCL Unesp Araraquara. Gradu-
ao e mestrado pela FGV-SP. Doutor em Sociologia pela Unesp
Araraquara. Autor do livro: A fbrica como agncia educativa,
pela Editora Cultura Acadmica. Membro do GPHEC. E-mail:
felipeluizgomes@terra.com.br; felipepinotador@yahoo.com.br
Henrique tahan novaes
Docente da FFC Unesp Marlia. Graduado em Cincias Eco-
nmicas pela Unesp Araraquara (2001) e mestrado (2005) e dou-
torado (2010) em Poltica Cientfica e Tecnolgica pela Unicamp.
Autor do livro O fetiche da tecnologia a experincia das fbricas
recuperadas (Expresso Popular-Fapesp, 2007 e 2010). Organiza-
dor do livro O retorno do caracol sua concha: alienao e de-
salienao em associaes de trabalhadores (Expresso Popular,
2011). professor do curso de especializao Economia Solidria e
Tecnologia Social na Amrica Latina (Unicamp). Coordenador do
curso Gesto Pblica e Sociedade. Membro do Instituto Brasileiro
de Estudos Contemporneos (Ibec), do Gapi-Unicamp e do Grupo
Org & Demo (Unesp Marlia). E-mail: hetanov@yahoo.com.br
las fraga
Graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade
Estadual de Campinas (2003) e mestre em Poltica Cientfica e
Tecnolgica tambm pela Unicamp (2007). Atualmente formado-
ra da Incubadora Tecnolgica de Cooperativas Populares (ITCP/
Unicamp ) e doutoranda e pesquisadora-membro do Grupo de An-
lise de Pesquisa de Inovao (Gapi/IG/Unicamp). Coordenadora
do curso de especializao Economia Solidria e Tecnologia Social
na Amrica Latina (Unicamp). E-mail: laisfraga@gmail.com
476
mariana castro
Graduada em Cincias Econmicas pela Universidade Fe-
deral de Viosa/MG (2009) e formada no curso de especializa-
o Economia Solidria e Tecnologia Social na Amrica Lati-
na (Unicamp/2010). Atualmente pesquisadora extensionista
da Incubadora Tecnolgica de Cooperativas Populares (ITCP/
Unicamp) e mestranda no programa de ps-graduao em Edu-
cao da Universidade de So Paulo (FE-USP). Monitora do
curso de especializao Economia Solidria e Tecnologia So-
cial na Amrica Latina (Unicamp/Turma de 2011). E-mail:
marianapereiracastro@gmail.com
maurcio sard de faria
Doutor em Sociologia Poltica pela Universidade Federal de
Santa Catarina, com a tese: Autogesto, Cooperativa, Economia
Solidria: avatares do trabalho e do capital. Professor adjunto I
da Universidade Federal da Paraba, Curso de Gesto Pblica.
Participa da Coordenao da Incubadora de Empreendimentos
Solidrios da UFPB Incubes/UFPB. Participa como professor
convidado do curso de especializao em Economia Solidria e
Tecnologia Social na Amrica Latina do Gapi/Unicamp. E-mail:
mausarda@yahoo.com.br
milena pavan serafim
Possui graduao em Administrao Pblica pela Universi-
dade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho (2005), mestrado
em Poltica Cientfica e Tecnolgica pela Universidade Estadual de
Campinas (2008). doutoranda em Poltica Cientfica e Tecnolgi-
ca no Departamento de Poltica Cientfica e Tecnolgica da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp). Pesquisadora do Grupo
de Anlise de Polticas de Inovao (Gapi) e professora do curso de
especializao Gesto Estratgica Pblica (Unicamp) e Estado e
Polticas Pblicas (Unicamp). E-mail: milenaserafim@gmail.com
477
paul israel singer
Secretrio nacional de Economia Solidria do Ministrio do
Trabalho e Emprego e professor titular da Faculdade de Economia,
Administrao e Contabilidade da USP. Foi secretrio municipal
de Planejamento de So Paulo (1989-1992). autor de Aprender
economia, O Brasil na crise perigos e oportunidades, Econo-
mia poltica de urbanizao,Globalizao e desemprego, O que
economia e Para entender o mundo financeiro; e co-autor de A
Economia Solidria no Brasil, todos pela Editora Contexto.
paulo alves de lima filho
Possui graduao em Economia pela Universidade Amizade
dos Povos Patrice Lumumba (1974), mestrado em Economia pela
Universidade Amizade dos Povos Patrice Lumumba (1975), dou-
torado em Cincias Sociais pela Pontifcia Universidade Catlica
de So Paulo (1993) e ps-doutorado na rea de Geopoltica da
Energia na Unesp Marlia. Coordenador do Instituto Brasileiro
de Estudos Contemporneos (Ibec). Professor convidado do cur-
so de especializao Economia Solidria e Tecnologia Social na
Amrica Latina (Unicamp). E-mail: palf1951@gmail.com
rafael dias
Professor da Faculdade de Cincias Aplicadas da Unicamp
(campus de Limeira) e coordenador associado do Grupo de
Anlise de Polticas de Inovao (Gapi) da Unicamp. doutor
em Poltica Cientfica e Tecnolgica pela Unicamp (2009), com
perodo de estgio no Georgia Institute of Technology (2009),
e mestre em Poltica Cientfica e Tecnolgica pela Unicamp
(2005). graduado em Economia pela Facamp (Faculdades de
Campinas, 2003). Tem atuado como docente nos cursos de es-
pecializao Gesto Estratgica Pblica e Economia Solidria
e Tecnologia Social na Amrica Latina, ambos da Unicamp.
E-mail: rafael.dias@fca.unicamp.br
478
Gesto pblica e sociedade: fundamentos e polticas pblicas de Economia Solidria
renato dagnino
Professor titular no Departamento de Poltica Cientfica e
Tecnolgica da Unicamp e tem atuado como professor convidado
em vrias universidades do Brasil e do exterior. Graduou-se em
Engenharia em Porto Alegre e estudou Economia no Chile e no
Brasil, onde fez o mestrado e o doutorado. Sua livre-docncia na
Unicamp e seu ps-doutorado na Universidade de Sussex foram
na rea de Estudos Sociais da Cincia e Tecnologia. Coordenador
do Grupo de Anlise de Poltica de Inovao (Gapi-Unicamp).
Autor de vrios livros nos campos da Cincia e Tecnologia e das
Polticas Pblicas. E-mail: rdagnino@ige.unicamp.br
rogrio fernandes macedo
Graduado em Cincias Econmicas pela Unesp Araraquara
(2005). Mestre em Sociologia na Unesp, com a dissertao Josu
de Castro: realidade, teoria e institucionalizao da fome. Douto-
rando em Sociologia na Faculdade de Cincias e Letras da Unesp,
com a tese O governo de Luiz Incio Lula da Silva e a falcia da
extino da misria no Brasil. Pesquisador do Instituto Brasileiro
de Estudos Contemporneos (Ibec). Pesquisador do Grupo Traba-
lho, Movimentos Sociais e Sociabilidade Contempornea e pro-
fessor efetivo do curso de Cincias Econmicas da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em Minas
Gerais. E-mail: rogeriof_macedo@yahoo.com.br
Valmor schiochet
Natural de Joinville/SC, doutor em sociologia poltica pela
Universidade de Braslia (UnB). Professor do Departamento de
Cincias Sociais e Filosofia da Universidade Regional de Blume-
nau (Furb/SC). Atua no mestrado em Desenvolvimento regional
e coordena o Grupo de Pesquisas Economia Solidria, Trabalho
e Desenvolvimento Regional. Atualmente diretor de estudos e
divulgao da Secretaria Nacional de Economia Solidria. Pro-
fessor convidado do curso de Especializao Economia Solid-
ria e Tecnologia Social na Amrica Latina (Unicamp). E-mail:
valmor1963@yahoo.com.br
Você também pode gostar
- UntitledDocumento3 páginasUntitledIvan JerryAinda não há avaliações
- Relatorio Final Cumprimento Da Quarentena e Isolamento Obrigatorio em MaputoDocumento31 páginasRelatorio Final Cumprimento Da Quarentena e Isolamento Obrigatorio em MaputoDarko VonococivAinda não há avaliações
- Resenha 02Documento2 páginasResenha 02Stefani SouzaAinda não há avaliações
- Ana - TFC A Ser Submetido Na Revisao LinguisticaDocumento62 páginasAna - TFC A Ser Submetido Na Revisao LinguisticaAna manuelAinda não há avaliações
- Avaliação de Políticas Públicas e Progrmas Governamentais - Uma Abordagem Conceitual PDFDocumento13 páginasAvaliação de Políticas Públicas e Progrmas Governamentais - Uma Abordagem Conceitual PDFpoliticaspublicasuecAinda não há avaliações
- Orientacoes Tecnicas Sobre o PAIF - Trabalho Social Com FamiliasDocumento99 páginasOrientacoes Tecnicas Sobre o PAIF - Trabalho Social Com FamiliasUhedenim BandeiraAinda não há avaliações
- Milton Santos - A Natureza Do Espaço - ResumoDocumento4 páginasMilton Santos - A Natureza Do Espaço - ResumoLeticia100% (1)
- Movimento Contra A GlobalizacaoDocumento2 páginasMovimento Contra A Globalizacaothiago0% (1)
- Movimentos Sociais e Conselhos de Políticas Urbanas: Reflexões sobre Participação e Controle SocialNo EverandMovimentos Sociais e Conselhos de Políticas Urbanas: Reflexões sobre Participação e Controle SocialAinda não há avaliações
- Contribuição dos gastos públicos no desenvolvimento da sociedadeNo EverandContribuição dos gastos públicos no desenvolvimento da sociedadeAinda não há avaliações
- As Relações de Género No Desenvolvimento Local: Uma Reflexão Da Participação Da Mulher Nos Projectos Financiados Pelo Fundo de Desenvolvimento Distrital Na Localidade de Marracuene, 2010 - 2014.Documento71 páginasAs Relações de Género No Desenvolvimento Local: Uma Reflexão Da Participação Da Mulher Nos Projectos Financiados Pelo Fundo de Desenvolvimento Distrital Na Localidade de Marracuene, 2010 - 2014.Joana BilaAinda não há avaliações
- Crescimento Econômico e Meio AmbienteDocumento13 páginasCrescimento Econômico e Meio AmbienteMariane Melo100% (1)
- Apostila Da Disciplina - Políticas EducacionaisDocumento48 páginasApostila Da Disciplina - Políticas EducacionaisRicael Spirandeli100% (1)
- Cap2 Jan e Carol PDFDocumento33 páginasCap2 Jan e Carol PDFGuilherme AraujoAinda não há avaliações
- Trab. em Grupo - Políticas Públicas em EducaçãoDocumento11 páginasTrab. em Grupo - Políticas Públicas em EducaçãoJoao AlfandegaAinda não há avaliações
- Movimentos SociaisDocumento183 páginasMovimentos SociaisThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Módulo 3 - A Participação Social Na Elaboração Do Plano Municipal de Saneamento BásicoDocumento33 páginasMódulo 3 - A Participação Social Na Elaboração Do Plano Municipal de Saneamento Básicofrank_barrosoAinda não há avaliações
- A Problemática Da Gestão Do Fundo Do Programa de Redução Da Pobreza Urbana Na Cidade de LichingaDocumento12 páginasA Problemática Da Gestão Do Fundo Do Programa de Redução Da Pobreza Urbana Na Cidade de Lichingaarcade arjunAinda não há avaliações
- Voce Sabe Qual A Diferenca Entre Whitinput Demanda Ou Apoio e Um InputDocumento5 páginasVoce Sabe Qual A Diferenca Entre Whitinput Demanda Ou Apoio e Um InputigorvicAinda não há avaliações
- Serviço Social e Violência DomésticaDocumento19 páginasServiço Social e Violência DomésticaRosane GafaAinda não há avaliações
- BioestatísticaDocumento19 páginasBioestatísticaPedro de AlcântaraAinda não há avaliações
- Modelo Das Cinco Forças de Porter Aplicadas Numa Farmácia de Manipulação No Município de Campina Grande - PBDocumento7 páginasModelo Das Cinco Forças de Porter Aplicadas Numa Farmácia de Manipulação No Município de Campina Grande - PBHélio CavalcantiAinda não há avaliações
- Trabalho TT4Documento16 páginasTrabalho TT4Albino dinizAinda não há avaliações
- Resumo de Comunicação OrganizacionalDocumento3 páginasResumo de Comunicação OrganizacionalJoão UchôaAinda não há avaliações
- Monografia Mundoa-1Documento42 páginasMonografia Mundoa-1Anonymous 9FiCpUkTCAinda não há avaliações
- 025 Desafios para Implementação de Políticas Públicas Intersetorialidade e Regionalização PDFDocumento20 páginas025 Desafios para Implementação de Políticas Públicas Intersetorialidade e Regionalização PDFAnonymous O73A0EwmSC100% (1)
- AULAS DE ECONOMIA DA GRADUAÇÃO (Word)Documento143 páginasAULAS DE ECONOMIA DA GRADUAÇÃO (Word)LeidianeRibeiroAinda não há avaliações
- Transformação Agrícola e Desenvolvimento RuralDocumento18 páginasTransformação Agrícola e Desenvolvimento RuralDois KilometrosAinda não há avaliações
- Apresentação Sobre Políticas PúblicasDocumento2 páginasApresentação Sobre Políticas PúblicasLuiz SousaAinda não há avaliações
- A População - Crescimento, Distribuição, Estrutura e MovimentosDocumento5 páginasA População - Crescimento, Distribuição, Estrutura e Movimentosdanielbbueno100% (1)
- Micro Aula 1 ConceitosDocumento20 páginasMicro Aula 1 ConceitosGustavo OliveiraAinda não há avaliações
- Manual de Desenvolvimento EconómicoDocumento56 páginasManual de Desenvolvimento EconómicoJoaquim Oliveira Baptista BaptistaAinda não há avaliações
- Políticas Públicas - Mapeamento Dos Modelos de Análise - Prof Viviane Regina Da SilvaDocumento15 páginasPolíticas Públicas - Mapeamento Dos Modelos de Análise - Prof Viviane Regina Da SilvaViviane Regina Da SilvaAinda não há avaliações
- O Género Na Sociedade MoçambicanaDocumento19 páginasO Género Na Sociedade MoçambicanaBernardo Ferreira TrigoAinda não há avaliações
- Politicas Publicas Pra Habitacao em AngolaDocumento70 páginasPoliticas Publicas Pra Habitacao em AngolaBraD Al Junior100% (2)
- Ética e Responsabilidade SocialDocumento31 páginasÉtica e Responsabilidade Socialisadora rego100% (1)
- O Desemprego Como Expressao Da Questao Social e As Politicas Publicas de Trabalho Geracao de Emprego e RendaDocumento21 páginasO Desemprego Como Expressao Da Questao Social e As Politicas Publicas de Trabalho Geracao de Emprego e RendaFRANCYNI MARILIVIA DA SILVA XAVIER100% (1)
- Políticas de Segurança Pública BahiaDocumento185 páginasPolíticas de Segurança Pública BahiaCleiton Liob100% (1)
- Monografia Administracao PublicaDocumento61 páginasMonografia Administracao PublicaMarcelo Jorge Almeida FerreiraAinda não há avaliações
- Fichamento de Gestão SocialDocumento2 páginasFichamento de Gestão SocialM Angélica Pedrosa100% (1)
- Gestão Sustentável Dos Recursos NaturaisDocumento12 páginasGestão Sustentável Dos Recursos NaturaisEleuterio MonteiroAinda não há avaliações
- A Importancia Da Etica PDFDocumento16 páginasA Importancia Da Etica PDFEva Ferreira DuarteAinda não há avaliações
- 02 Avaliação de Políticas PúblicasDocumento28 páginas02 Avaliação de Políticas PúblicasAndreia Barreto100% (1)
- Proteção Judicial Dos Direitos FundamentaisDocumento148 páginasProteção Judicial Dos Direitos Fundamentaisgeorgemlima100% (2)
- Epdv4 1Documento138 páginasEpdv4 1FranciscoChivaviceAinda não há avaliações
- Desafios Da Descentralizacao-Nobre CanhagaDocumento29 páginasDesafios Da Descentralizacao-Nobre CanhagadercioAinda não há avaliações
- Relatório de AntropologiaDocumento19 páginasRelatório de AntropologiaElaine Spanhol Borges100% (2)
- A Dificuldade Da Inclusão Da Pessoa Com Deficiência No Mercado de TrabalhoDocumento15 páginasA Dificuldade Da Inclusão Da Pessoa Com Deficiência No Mercado de TrabalhofelianjoAinda não há avaliações
- Monografia TCC IESB - TCU e Moralidade AdministrativaDocumento143 páginasMonografia TCC IESB - TCU e Moralidade AdministrativapaulohrmAinda não há avaliações
- A Importância Da Teoria Contingencial para o Sucesso Do Gestor ContemporâneoDocumento2 páginasA Importância Da Teoria Contingencial para o Sucesso Do Gestor ContemporâneoFelipe Augusto100% (2)
- OutroDocumento232 páginasOutroBla BlaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento ComunitarioDocumento19 páginasDesenvolvimento Comunitario15ab8811Ainda não há avaliações
- Ética e Moral - Conceitos, Diferenças e ExemplosDocumento3 páginasÉtica e Moral - Conceitos, Diferenças e ExemplosLorran ShumorAinda não há avaliações
- CidadaniaDocumento11 páginasCidadaniaAniceto RosarioAinda não há avaliações
- Sociologia GeralDocumento5 páginasSociologia GeralDiih RochaAinda não há avaliações
- Amade, Alide Força. Avaliação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural PDFDocumento101 páginasAmade, Alide Força. Avaliação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural PDFAlde forca Amade100% (1)
- Responsabilidade Social - Dimensão Interna e Dimensão Externa - E Pluribus UnumDocumento2 páginasResponsabilidade Social - Dimensão Interna e Dimensão Externa - E Pluribus UnumAna PalmaAinda não há avaliações
- A Participação Dos Cidadãos Nas Políticas de Saneamento Básico Da Zona-A, BenguelaDocumento54 páginasA Participação Dos Cidadãos Nas Políticas de Saneamento Básico Da Zona-A, BenguelaAgostinho MateusAinda não há avaliações
- Módulo 1 - Inovação e o Contexto Do Setor PúblicoDocumento18 páginasMódulo 1 - Inovação e o Contexto Do Setor PúblicoGo ECCOSAinda não há avaliações
- Trabalho, corporalidade e formação humanaNo EverandTrabalho, corporalidade e formação humanaAinda não há avaliações
- Rito, poder e socialização: Um trabalho com meninos de ruaNo EverandRito, poder e socialização: Um trabalho com meninos de ruaAinda não há avaliações
- Manual Do Profissional - Edison Flavio MacedoDocumento102 páginasManual Do Profissional - Edison Flavio Macedocleverton_xavierAinda não há avaliações
- Dissertativa - Unidade 1Documento4 páginasDissertativa - Unidade 1CristinaAinda não há avaliações
- A Revolução Técnico-científico-Informacional Como Base Da GlobalizaçãoDocumento39 páginasA Revolução Técnico-científico-Informacional Como Base Da GlobalizaçãoZaady SanabriaAinda não há avaliações
- Estudo de GeografiaDocumento2 páginasEstudo de GeografiaKaren GalvãoAinda não há avaliações
- A UNIVERSIDADE Na Encruzilhada Seminário Universidade Por Que e Como ReformarDocumento217 páginasA UNIVERSIDADE Na Encruzilhada Seminário Universidade Por Que e Como ReformarClarice Da Costa CarvalhoAinda não há avaliações
- Capítulo 3 - o Desenvolvimento SustentávelDocumento25 páginasCapítulo 3 - o Desenvolvimento SustentávelAlexsander CostaAinda não há avaliações
- Apostila 9 Ano - Semana 7Documento10 páginasApostila 9 Ano - Semana 7Pollyane Soares DiasAinda não há avaliações
- ALMEIDA - Ciencia Tecnologia e GlobalizaoDocumento29 páginasALMEIDA - Ciencia Tecnologia e GlobalizaoJoão Paulino FreitasAinda não há avaliações
- Livro. Literatura Traduzida e Literatura Nacional PDFDocumento208 páginasLivro. Literatura Traduzida e Literatura Nacional PDFMiguelito DiezAinda não há avaliações
- Modelo de RedaçaoDocumento29 páginasModelo de RedaçaoTaynaraAinda não há avaliações
- O Ensino Da Arte e A Pluralidade Cultural - Trabalhando Com A InterculturalidadeDocumento11 páginasO Ensino Da Arte e A Pluralidade Cultural - Trabalhando Com A InterculturalidadetauacarvalhoAinda não há avaliações
- Aula 14Documento5 páginasAula 14José Muniz Jr.Ainda não há avaliações
- Uso de Correio Eletrônico, Preparo de Mensagens (Anexação de Arquivos, CópiasDocumento5 páginasUso de Correio Eletrônico, Preparo de Mensagens (Anexação de Arquivos, CópiasRobert Tuneca SoaresAinda não há avaliações
- A Importância Da Empregabilidade Na Vida ProfissionalDocumento19 páginasA Importância Da Empregabilidade Na Vida ProfissionalFernando Pereira BragaAinda não há avaliações
- Livro Covid 19 ImpressoDocumento208 páginasLivro Covid 19 ImpressoAline Gonçalves100% (1)
- O Lugar Da Natrureza e A Natureza Do Lugar - EscobarDocumento18 páginasO Lugar Da Natrureza e A Natureza Do Lugar - EscobarSylviaDAFONSECAcerAinda não há avaliações
- O Fim Da História e o Último Home1Documento12 páginasO Fim Da História e o Último Home1Vilarino CalistoAinda não há avaliações
- 164802Documento220 páginas164802franciscoAinda não há avaliações
- Fases Da GlobalizaçãoDocumento4 páginasFases Da GlobalizaçãoEugrencio João MaposseAinda não há avaliações
- A Identidade Cultural Na Pós FichamentoDocumento6 páginasA Identidade Cultural Na Pós Fichamentovieirasantoswilliam100% (2)
- Temas Que Mais Caem No Enem HumanasDocumento6 páginasTemas Que Mais Caem No Enem Humanasjohn wickAinda não há avaliações
- A Identidade Cultural Da Pós-Modernidade - ResumoDocumento2 páginasA Identidade Cultural Da Pós-Modernidade - ResumoCaroline F. da SilvaAinda não há avaliações
- Prova 01 Metodologia CientificaDocumento5 páginasProva 01 Metodologia CientificaBruna NathaliaAinda não há avaliações
- Mapiense 1Documento87 páginasMapiense 1Guillermo Rioja-BallivianAinda não há avaliações
- Entre Territórios, Redes e Aglomerados de ExclusãoDocumento2 páginasEntre Territórios, Redes e Aglomerados de Exclusãoediana05Ainda não há avaliações
- Prova Acafe 2009Documento15 páginasProva Acafe 2009Dyego FentanesAinda não há avaliações
- Globali Raci BRDocumento77 páginasGlobali Raci BRIrmão Jáder SouzaAinda não há avaliações
- 357 - Artigo - Logistica - Logística e Gestão Da Distribuição PDFDocumento12 páginas357 - Artigo - Logistica - Logística e Gestão Da Distribuição PDFAna Carol NunesAinda não há avaliações