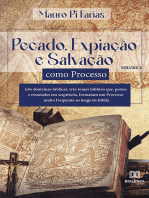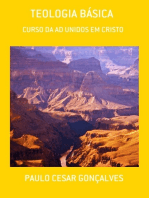Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Usos e Costumes Na Assembléia de Deus - TCC - Antonio - Corobim
Usos e Costumes Na Assembléia de Deus - TCC - Antonio - Corobim
Enviado por
J.r. Valente0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações50 páginasTítulo original
Usos e Costumes Na Assembléia de Deus_TCC_Antonio_Corobim
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações50 páginasUsos e Costumes Na Assembléia de Deus - TCC - Antonio - Corobim
Usos e Costumes Na Assembléia de Deus - TCC - Antonio - Corobim
Enviado por
J.r. ValenteDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 50
Antonio Luiz Corobim
UMA ANLISE DOS USOS E COSTUMES ADOTADOS PELA CONVENO
GERAL DAS ASSEMBLIAS DE DEUS NO BRASIL CGADB
So Paulo
2008
Antonio Luiz Corobim
UMA ANLISE DOS USOS E COSTUMES ADOTADOS PELA CONVENO
GERAL DAS ASSEMBLIAS DE DEUS NO BRASIL CGADB
So Paulo
2008
Trabalho de Concluso de
Curso apresentado como requisito
final no curso de Bacharel em
Teologia da Faculdade Teolgica
Batista de So Paulo.
Orientador: Prof. Ms. Itamir
Neves de Souza
Antonio Luiz Corobim
UMA ANLISE DOS USOS E COSTUMES ADOTADOS PELA CONVENO
GERAL DAS ASSEMBLIAS DE DEUS NO BRASIL CGADB
BANCA EXAMINADORA
_________________________________________________________________
Prof. Ms. Itamir Neves de Souza Orientador
_________________________________________________________________
Prof. Ms. Marcelo dos Santos Oliveira
_________________________________________________________________
Prof. Ms. Madalena de Oliveira Molochenco
So Paulo
2008
AGRADECIMENTOS
Agradeo a Deus pela vida
Ao Senhor Jesus pela vida eterna
Ktia, minha querida esposa e colega de turma
Ao meu amado filho Vincius, milagre de Deus
Aos meus pastores que viram em mim vocao pastoral
Ao Prof. Itamir Neves de Souza, mentor e amigo
querida Assemblia de Deus, onde conheci o Senhor
RESUMO
A presente pesquisa aborda e faz uma anlise individual dos conhecidos usos
e costumes das Assemblias de Deus no Brasil, contidos em pgina da Conveno
Geral das Assemblias de Deus CGADB.
Esses costumes, ao longo dos anos, foram impingidos aos fiis da
denominao em especial s mulheres , como sendo a mais pura verdade
bblica, durante os quase cem anos da denominao no Brasil.
Vrios so os fatores que contriburam para a existncia e manuteno
desses costumes at os dias de hoje. Porm, vivemos em poca de constantes
mudanas. At a prpria natureza tem sido objeto de freqentes alteraes.
A proposta deste trabalho demonstrar a necessidade de mudanas e flexibilizao.
O escopo da presente pesquisa trazer luz, trazer uma nova contribuio ao
atual panorama, buscar reabrir o dilogo acerca desse polmico tema que divide os
irmos em Cristo.
Palavras-chave: Usos e costumes. CGADB. Assemblias de Deus. Doutrinas.
Flexibilizao.
SUMRIO
INTRODUO ............................................................................................................ 7
1. USOS E COSTUMES............................................................................................. 9
1.1 Conceituao ................................................................................................ 9
1.2 O que so costumes religiosos? ................................................................. 10
1.3 Legitimao ................................................................................................. 12
1.4 Costumes nos tempos bblicos ................................................................... 14
2. ANLISE INDIVIDUAL DE CADA COSTUME APRESENTADO PELA CGADB E
SEUS FUNDAMENTOS ............................................................................................ 15
2.1 Ter os homens cabelos crescidos (1 Co 11.14), bem como fazer
cortes extravagantes ................................................................................................. 16
2.2 As mulheres usarem roupas que so peculiares aos homens e vestimentas
indecentes e indecorosas, ou sem modstias (1 Tm 2.9, 10) ................................... 20
2.3 Uso exagerado de pintura e maquiagem - unhas, tatuagens e
cabelos (Lv 19.28; 2 Rs 9.30) ................................................................................... 25
2.4 Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendao bblica - (1 Co
11.6, 15) ................................................................................................................... 27
2.5 Mal uso dos meios de comunicao: televiso, internet, rdio, telefone
(1 Co 6.12; Fp 4.8) ................................................................................................... 31
2.6 Uso de bebidas alcolicas e embriagantes (Pv. 20.1; 26.31; 1 Co 6.10;
Ef. 5.18) .................................................................................................................... 34
3. ANLISE DOS FATORES RESPONSVEIS PELA MANUTENO DOS
COSTUMES AT OS DIAS DE HOJE ..................................................................... 38
3.1 O machismo dos novos lderes brasileiros do norte/nordeste .................... 38
3.2 O sistema de governo eclesistico adotado ...............................................40
3.3 O poder da legitimao ............................................................................... 42
CONCLUSO ........................................................................................................... 44
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ......................................................................... 47
7
INTRODUO
A questo da formao dos costumes em uma sociedade se d de maneira
interessante, em especial no meio evanglico. O ser humano tem necessidade de
viver em grupo. Em razo da formao dos agrupamentos sociais, tem incio o
aparecimento de determinadas estruturas que se inseriram e se fundamentaram em
virtude dessa necessidade.
Os costumes, muitas vezes, exercem sobre ns influncia que no
percebemos claramente. Moldam os modos de um povo de ver, de fazer e de agir,
de maneira que, quando se erra, no fcil perceber, e tampouco tornar atrs. O
erro pode ser posto em prtica pelo costume.
No meio evanglico, quase todo o conhecimento teolgico no Brasil
importado dos Estados Unidos ou da Europa, de onde inicialmente recebemos o
ensinamento acerca do evangelho ministrado pelos missionrios que aqui chegaram
no incio do sc. XVII. Esse fato desencadeia uma sutil invaso de cultura.
Exemplificando, as mulheres dos missionrios oriundos de pases de climas mais
frios que o nosso, usavam vestimentas conforme sua cultura, geralmente longas,
algumas bem coloridas ou extravagantes, apropriadas para a regio de onde
procederam. Todavia, ao iniciarem aqui seu labor, mantiveram suas vestimentas,
seus costumes. O que essa nova liderana acarretou? Acarretou que nossas
mulheres, de pas com clima tropical, recebessem e fossem influenciadas pelo
costume estrangeiro no uso de roupas, cabelos, cosmtica entre outros, tudo
amplamente legitimado pelos pastores, pela comunidade local e ainda hoje, aps um
sculo, pelo rgo mximo da denominao, a CGADB.
O assunto embora aparentemente no tenha maiores conseqncias ou
interesse de estudo deveras importante porque tem criado divises no corpo de
Cristo. A grande massa de irmos de denominaes que adotam determinados
costumes por imposio delas os recebem como verdade bblica e, por isso,
chegam at a menosprezar ou fustigar seus irmos de outras denominaes que
no os adotam. Do muito valor vestimenta feminina tais como saias longas ou
pouco abaixo dos joelhos, ao cabelo comprido, proibio do uso de barba nos
8
homens, ao uso bermudas, participar da prtica de esportes entre tantos
incontveis outros. H porm um risco, um perigo de as mulheres se julgarem
superiores, mais santas, em relao s demais irms que usam calas compridas,
brincos, que usam batons, esmaltes, cabelos curtos...
Essa prtica gera desconfortos e divises entre igrejas crists protestantes.
No recomendvel convidar para uma festividade assembleiana uma denominao
que adote costumes diferentes, pois esses visitantes poderiam influenciar
negativamente os crentes da igreja patrocinadora do evento por seu liberalismo.
O que se alerta, o que se enfatiza nesta pesquisa a possibilidade de se
evitar distores produzidas pelos costumes no corpo de Cristo. A graa acaba
sendo de certo modo diminuda ou colocada em segundo plano em razo do mrito
alcanado pelo fiel por ter assimilado o conceito de que tais Sadios princpios
estabelecidos na Palavra de Deus a Bblia Sagrada e conservados como
costumes desde o incio desta Obra no Brasil
1
produzem santidade.
Martino (2005)
2
, Doutor em Cincias Sociais pela PUC-SP, em seu artigo leciona
que:
As instituies sociais so estruturas hierarquizadas, dentro das quais circula
uma quantidade inacreditvel de capital simblico utilizado de inmeras maneiras e
objetivado nas inmeras relaes de poder e obedincia, mais ou menos explcitos,
que regem sempre o cotidiano institucional. H, portanto, disputas e rivalidades que se
cristalizam em faces, grupos ou tendncias divergentes dentro de uma mesma
instituio. Ao ganhar o aval universitrio para estudar sua prpria religio, o fiel
atuante em uma determinada rea ganha uma voz autorizada para sugerir, discutir e
criticar a postura da instituio, mantendo-se vinculado a ela e participando de seus
ritos de instituio a partir de uma postura mais elevada. (MARTINO, Setembro-
Dezembro 2005, Revista Nures PUC-SP, Ed. 1, n 1).
O propsito do presente trabalho trazer uma contribuio ao atual
panorama, buscar reabrir o dilogo, realizar uma anlise dos usos e costumes
adotados pela Conveno Geral das Assemblias de Deus no Brasil CGADB em
tempos ps-modernos luz de telogos contemporneos e analisar os fatores
responsveis pela manuteno desses costumes at os dias de hoje.
1
Disponvel em: http://advi.com.br/cgadb/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=36
> Acesso em 16/05/2008.
2
MARTINO, Lus Mauro S. Artigo: Religio e senso comum: um dilogo com Gramsci. Disponvel
em: http://www.pucsp.br/nures/revista1/luis.pdf > Acesso em 07/10/2008.
9
1. COSTUMES
O que so costumes? O que so costumes religiosos? Para que servem?
Devemos cultiv-los? Essas e outras questes sero tratadas a seguir.
1.1. Conceituao
Lakatos & Marconi (1999) ensinam:
Tipos: Folkways, Mores e Leis
A maneira de viver de um grupo social implica normas de comportamento,
muitas delas estabelecidas h tempos atrs. As normas de comportamento social
foram classificadas por Sumner em duas categorias diferentes: os folkways (usos) e
os mores (costumes). Esta diviso dos padres de comportamento se estende,
portanto, desde os de menor importncia at os obrigatrios e universais. Entre os
usos mais frouxos e os costumes mais rigorosos forma-se um contnuo que, tendo-se
em vista as variedades dentro de cada categoria, dificulta a delimitao das fronteiras
entre um e outro. Essa passagem, fluida e imprecisa, torna difcil classificar alguns
padres situados nesse contnuo, por parecer pertencerem s duas categorias.
Nesse caso temos as regras sobre o recato no trajar, o consumo de bebidas
alcolicas etc.
Folkways. Padres no obrigatrios de comportamento social exterior
constituem os modos coletivos de conduta, convencionais ou espontneos,
reconhecidos e aceitos pela sociedade. Praticamente, regem a maior parte da nossa
vida cotidiana, sem serem deliberadamente impostos. Indicam o que adequado ou
socialmente correto. No tem carter obrigatrio.
Exemplos de folkways: convenes, formas de etiqueta, celebrao da
puberdade, estilos de construes, rituais de observncia religiosa, rotinas de
trabalho e lazer, convenes da arte ou da guerra, maneiras de cortejar, de vestir etc.
Mores. So as normas moralmente sancionadas em vigor, segundo Ely
Chinoy (1971:60). Constituem comportamento imperativo, tido como desejvel pelo
grupo, apesar de restringir e limitar a conduta. So essenciais e importantes ao bem-
estar da sociedade e aparecem como normas reguladoras de toda a cultura. Apesar
da obrigatoriedade e imposio, so considerados justos pelo grupo que os
compartilha.
Os mores tem carter ativo e seu controle pode ser consciente ou
inconsciente; so sancionados pela tradio e sustentados pelas presses da opinio
de grupos: ridculo, mexerico, castigos, no-aceitao. Como forma de controle
natural, penetram nas relaes sociais. Suas normas de conduta regulam o
comportamento social, restringindo, moldando e reprimindo certas tendncias dos
indivduos. Tm maior contedo emocional do que os usos.
A no-conformidade com os mores provoca desaprovao moral. A reao
do grupo violenta e sria, como no adultrio, roubo, assassnio e incesto, na
sociedade ocidental. Entretanto, h amplas variaes nas atitudes dos grupos em
relao a essas regras, de acordo com as diferentes culturas. (LAKATOS &
MARCONI, 1999, p. 140-141).
10
Em suma, costumes so as maneiras normais e habituais de um grupo fazer
as coisas. So traos ou padres culturais que distinguem as comunidades, sendo
transmitidos de gerao para gerao (entre os membros dessa comunidade).
1.2 O que so costumes religiosos?
So regras de conduta (folkways e mores) mantidos por determinada
instituio religiosa.
Para Mariano (2005, p. 187) usos e costumes a expresso utilizada pelos
pentecostais para se referir ao rigorismo legalista, s restries ao vesturio, uso de
bijuterias, produtos de beleza, corte de cabelo e a diversos tabus comportamentais
existentes em seu meio religioso.
Algumas questes que exigem respostas:
Tais costumes, como o exterior sbrio da mulher com cabelos compridos,
saias enormes, sem maquilagem, sem jias, sem adereos ou os homens com seus
ternos, gravatas, sapatos engraxados, cabelos curtos, sem uso de barba entre
outros, transmitem a quem os v algum sinal de santidade?
O exterior do ser humano em nada adora a Deus. O ser interior sim, com
pureza de corao o adora. Ideal para todos seria o aprendizado do Salmo 32.9
No sejais como o cavalo, nem como a mula, que no tm entendimento, cuja boca
precisa de cabresto e freio; de outra forma no se sujeitaro.
O que ser santo?
Segundo o Dicionrio Vine (2002, p. 970), santo (hagiasmos) significa: a)
separao para Deus (1Co 1.30; 2Ts 2.13; 1Pe 1.2); b) o estado resultante, a
conduta que convm queles que so separados (1Ts 4.3, 4, 7; e os quatro
primeiros textos citados acima). Ensina ainda que a santificao , pois, o estado
predeterminado por Deus para os crentes, no qual Ele pela graa os chama, e no
qual eles comeam o curso cristo e assim o buscam.
11
Tais costumes possuem eficcia?
Nenhuma e, infelizmente, estimulam a hipocrisia. Exteriormente h dois tipos
de crentes: os que se fantasiam de crentes para poder ir a Igreja, atendendo aos
ditames da conveno e vivem assim nos outros dias da semana; alm desses, h
os que tambm se fantasiam apenas para irem a igreja mas ao sarem dela,
imediatamente tiram a fantasia e vivem como se no houvesse conduta alguma a
ser obedecida. O que mais eficaz na vida do cristo: o ensino do texto bblico e o
cumprimento do mesmo pelo fiel ou a imposio institucional dos costumes
religiosos? Indubitavelmente, somente a Palavra tem poder para transformar. As
regras sociais ou normas institucionais, por melhor propsito que tenham, no tm o
condo de transformar o ser humano. Infalivelmente, s a Palavra o conduz ao
senhorio de Cristo.
Mariano (2005) tratando acerca da disfuncionalidade da austeridade
pentecostal comenta que
Segundo os prprios crentes, a radicalidade das regras e exigncias de
conduta gera hipocrisia no relacionamento entre os fiis. Como recurso de
autodefesa, muitos deles se fazem de santo apenas dentro da igreja ou na
companhia de seus irmos de f, enquanto noutros contextos e diante de
interlocutores presuntivamente hostis ao estilo pentecostal tradicional de ser,
omitem ou no assumem sua identidade de crentes, ou, ao contrrio, adotam at
mesmo comportamento diametralmente opostos ao que seria deles esperado.
(MARIANO, 2005, p. 198-199)
Por que manter costumes religiosos em tempos ps-modernos?
Mariano (2005) comenta que mesmo aps 90 anos de existncia a Assemblia
de Deus ainda carrega essa bagagem sectria que favorece e mantm os costumes.
Agora tradicional, esse trao identitrio, caracterizado por tabus e extenso
cdigo de proibies legalistas, resultado das crenas, da origem social dos
pioneiros e das marcas distintivas derivadas da condio inicial de seita
implantada em meio hostil, mantm considervel contraste com os modos e estilos
de vida da sociedade abrangente. (MARIANO, 2005, p. 205).
No h justificativa plausvel para isso, pois costumes so hbitos temporais,
atrelados ao Zeitgeist que significa esprito de poca. Utilizando-se do depoimento
de um psiquiatra evanglico, ele cita ainda o fato de que essa radicalidade
manifestada atravs de imposies aos fiis podem resultar em neuroses e
patologias diversas.
12
Essa postura de manter costumes um impedimento ao crescimento
3
da
Igreja, um motivo de fuga de jovens para outras denominaes (porque se
decepcionam com o modelo de igreja), causa tenses e disputas internas, no se
consegue penetrar em camadas sociais elevadas, alm de inmeras dissidncias
provenientes de pessoas corajosas e outras mudas, de bastidor. Mariano (p. 205)
afirma que Para os propsitos expansionistas da Assemblia de Deus, esses
costumes e hbitos, com status de doutrina bblica, esto se tornando cada vez mais
disfuncionais. Em outras palavras, isso se traduz em perdas.
Por que mudar?
Mulholland (2004), escreve que quando Jesus apareceu tentaram for-lo a
se conformar com suas tradies. Mas ele se recusou a pr o novo vinho do
evangelho em vasilhas de couro velho e estrag-lo (Mc. 2.18-22).
A nova aliana oferece novos coraes e liberdade para criar novas
formas (Mc. 7.1-23). Ainda muitas pessoas resistem a mudanas. Preferem fazer
como sempre fizeram, mesmo que esses costumes prejudiquem o avano do
evangelho.
Mudanas so comuns no mundo ao nosso redor. Encontram-se na
famlia, na mobilidade de multides que cortaram suas razes, na perda do
conceito de comunidade como unidade ntima e ativa, no nvel de instruo, na
complexidade social e nas estruturas sociais, polticas e financeiras. Estas e
outras alteraes na sociedade exigem modificaes nas igrejas. Como o Pastor
Kilinski e o Professor Wofford (p. 109) dizem: Toda organizao precisa mudar se
quiser sobreviver. [...] As igrejas de hoje esto comeando a reconhecer que a sua
sobrevivncia agora est em foco. (MULHOLLAND, 2004, p. 223-224).
Pelo exposto, deduzimos quo frgeis so os costumes religiosos e pouco ou
nenhum efeito positivo produzem.
1.3 Legitimao
Berger (1985, p. 42), extrai seu conceito de Weber e a define como o saber
socialmente objetivado que serve para explicar e justificar a ordem social. Em outras
palavras, as legitimaes so as respostas a quaisquer perguntas sobre o ``porqu
3
Mesmo com essa fuga dos jovens, a Assemblia de Deus mantm seu crescimento, fato que ocorre
apenas nas camadas mais incultas da populao que aceitam essas normas sem question-las.
FERNANDES (1998, p. 11), tratando acerca dos indicadores sociais tais como renda, educao, cor e
diferena denominacionais, em sua pesquisa demonstra que Apesar de soprar em todas as direes
da sociedade, parece claro que o carisma pentecostal expande-se mais nas bases da estrutura scio-
econmica.
13
dos dispositivos institucionais. Para Berger, a legitimao serve para escorar o
oscilante edifcio da ordem social.
Teixeira (2007) mostra que na viso de Berger
... a socializao exerce um papel importante de garantia de um consenso
duradouro a propsito do oscilante edifcio da ordem social. Mas a seu lado devem
atuar outros mecanismos fundamentais de manuteno do nomos, entre os quais
destaca o processo de legitimao e de controle social. (TEIXEIRA, 2007, p. 227)
Beauvoir (1980) disse certa vez: A mulher no nasce mulher, ela torna-se
mulher. Da mesma forma, o homem tambm no nasce homem, ele torna-se homem
sendo construdo pela sociedade, pela cultura onde habita.
Seguindo este raciocnio, legitimao definida por Teixeira (2007) como
... um processo cognitivo de justificao da ordem institucional, que
confere dignidade normativa a seus procedimentos prticos. Berger visualiza
diferentes nveis de legitimao, entre os quais a legitimao incipiente j presente
no processo de transmisso de um sistema de objetivaes lingsticas, a
legitimao rudimentar das proposies tericas vigentes nos provrbios e
mximas morais, a legitimao das teorias explcitas e a legitimao dos universos
simblicos. (TEIXEIRA, 2007, p. 227).
A legitimao s ter validade se houver uma estrutura de plausibilidade, ou
seja, de aceitao social. No basta que as respostas legitimadoras sejam repetidas
indefinidamente. preciso que a sociedade esteja estruturada para que essas
respostas faam sentido. Deste modo, as normas e regras exteriores ao indivduo
so-lhe imputadas independentemente da sua vontade, sendo o respeito por elas
obrigatrio para que o indivduo seja reconhecido e aceito como membro do grupo.
Para Berger, nomia o processo de ordenao do mundo e da sociedade
que fornece sentido e significado para o indivduo e para a coletividade: O nomos
situa a vida do indivduo numa trama de sentidos que tudo abarca. Para ele, a
religio ajuda a manter e a legitimar o mundo dos que crem por meio das vivncias
e das experincias delas com o sagrado.
Weber (2004, p.13) assim a define: Legitimao o processo de criar poder,
ou um padro de ordens e obedincia justo na opinio das pessoas. A autoridade
14
legtima a autoridade sem oposio perceptvel, obedincia livre. Para ele um dos
papis da religio oferecer sentido e significado para o indivduo ou para a
coletividade que cr ou que teve uma experincia religiosa.
1.4 Costumes nos tempos bblicos
No texto abaixo, os grifos foram efetuados para uma melhor visualizao do
tema abordado.
Coleman (1991, p. 58-74), nos traz um excelente panorama do contexto
bblico do Antigo e do Novo Testamento, acerca dos costumes no modo de se vestir,
uso de perfumes, cosmticos, jias, cabelo e barba, aqui resumidos. Embora os
judeus no possussem uma grande variao de tecidos ou diversidade de modelos,
eles se vestiam bem. Seu guarda roupa bsico era: a tnica exterior, s vezes
chamada de capa. Jos ganhou uma de Jac. Paulo possua a sua e at Bartimeu
estava com a sua antes de ser curado. Era de tamanha importncia que Coleman
frisa: um homem que se prezasse no entraria no templo sem estar conveniente
vestido com sua capa. Havia tambm a veste interior, conhecida como tnica, uma
espcie de camisa longa, semelhante a um vestido ou a uma camisola de dormir.
Como a capa, era feita de l ou linho. Outra pea importante era o cinto; difcil andar
sem ele. Coleman ensina que nos dias de Cristo, os cintos tinham diversas
finalidades prticas. Enfiavam-se neles facas, ou faces, espadas ou tinteiros de
chifre. Outros complementos eram chapus e adornos de cabea. Na antiguidade,
havia apenas dois tipos de calados: sandlias e sapatos.
O autor informa ainda que no havia muita diferena entre as roupas
masculinas e femininas; estas eram menores que as dos homens, apenas. Algumas
mulheres usavam batom e pintavam as unhas das mos e dos ps. Outros, como
Jac e Gideo, usavam jias (pendentes de ouro, cf. Gn 35.4; Jz 8.24). Muitos
judeus gostavam de se enfeitar com diversos tipos de correntinhas, colares, anis,
pulseiras. Os judeus sempre apreciaram a barba. Normalmente era crescida, no
aparada. Os cabelos, por sua vez, compridos como os de Sanso, de Absalo entre
outros; as mulheres usavam tranas.
15
2. ANLISE INDIVIDUAL DE CADA COSTUME E DOS VERSCULOS
APRESENTADOS PELA CGADB COMO FUNDAMENTO, LUZ DE TELOGOS
CONTEMPORNEOS
Do site da Conveno Geral das Assemblias de Deus no Brasil - CGADB
4
foram extrados os costumes abaixo que sero objeto desta anlise, os quais so
legitimados pelos fiis por intermdio de diversos mecanismos e se transformam em
normas e para os quais h completa proibio.
A CGADB assim os titula e enumera:
Sadios princpios estabelecidos na Palavra de Deus a Bblia Sagrada
e conservados como costumes desde o incio desta Obra no Brasil.
Os sadios princpios... leia-se prticas vedadas aos crentes da denominao.
2.1) Ter os homens cabelos crescidos (1 Co 11.14), bem como fazer cortes
extravagantes;
2.2) As mulheres usarem roupas que so peculiares aos homens e
vestimentas indecentes e indecorosas, ou sem modstias (1 Tm 2.9, 10);
2.3) Uso exagerado de pintura e maquiagem - unhas, tatuagens e cabelos-
(Lv 19.28; 2 Rs 9.30);
2.4) Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendao bblica
(1 Co 11.6, 15);
2.5) Mal uso dos meios de comunicao: televiso, Internet, rdio, telefone
(1 Co 6.12; Fp 4.8); e
2.6) Uso de bebidas alcolicas e embriagantes (Pv 20.1; 26.31; 1 Co 6.10;
Ef. 5.18).
4
Disponvel em:
http://advi.com.br/cgadb/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=36 > Acesso em
16/05/2008.
16
A anlise ser iniciada pelo item 2.1
Ter os homens cabelos crescidos (1 Co 11.14), bem como fazer cortes
extravagantes
A prpria natureza das coisas no lhes ensina que uma desonra para o homem ter
cabelo comprido, (NVI)
O que depreendemos da pesquisa que no decorrer da histria e, porque
no dizer, nos tempos bblicos, vrios foram os tipos de tamanho e de cortes de
cabelo utilizados pelas naes.
A palavra fusij, segundo RUSCONI (2003, p. 488) derivada da palavra
fuw (substantivo) que significa: natureza.
Os sacerdotes judeus no podiam cortar os cabelos (Lv 21.5).
Ao nazireu, cuja palavra significa consagrado, o corte de cabelo era proibido
pela Lei (Nm 6.1-7), pois no podiam passar a navalha na cabea. Mantinham a
longa cabeleira, idntica a de Sanso e de Absalo.
Champlin (1995) nos d a notcia que
...de maneira geral, os homens gregos usavam cabelos curtos, embora
isso nem sempre ocorresse entre os hebreus (como no caso dos nazireus, que
no passavam navalha na cabea). Contudo, muitos gregos usavam cabelos
compridos, incluindo os heris gregos, e tambm, os filsofos, os mestres e os
sbios. bem possvel que alguns dos leitores de Paulo ficassem perplexos ante
essa declarao, pois, apesar disso refletir um costume geral entre os gregos, isso
certamente no expressava o que era feito por todos. (CHAMPLIN, 1995, p.175)
Cita ainda que homens de vrias naes usavam cabelos compridos como os
samaritanos, lacedemnios, aqueanos...
Davis (1996, p. 93) nos diz que Os egpcios, ordinariamente, rapavam a
cabea, mas, por ocasio de luto, deixavam crescer os cabelos. Os assrios pelo
contrrio, deixavam-nos crescer at carem sobre os ombros. Os israelitas usavam-
nos sofrivelmente compridos, cortando-os, para impedir demasiado comprimento.
17
Nos tempos de Cristo era comum os homens usarem longos cabelos, embora
j houvesse uma variedade de cortes.
Coleman (1991) ensina que
possvel que nos dias de Cristo houvesse diversos tipos de cortes
masculinos. O mais popular era o cabelo a meio comprimento; mas no era
incomum o uso de cabelos bem longos. Provavelmente, em certos momentos, os
homens costumassem enfiar o cabelo sob o pano da cabea. Pelas esttuas da
antigidade clssica que existem at hoje vemos que alguns tinham a cabeleira
frisada, semelhante s permanentes de nossos dias. (COLEMAN, 1991, p. 58-74).
difcil aqui fazer a defesa de Paulo quando levanta a questo de o homem
ter cabelos compridos ser motivo de desonra. Us-los, no era uma afronta aos
costumes. Todavia, na tentativa de compreend-lo melhor, pode ser pelo fato de ele
falar ao povo de uma cidade com costumes libertinos. Todavia, por ser um homem
culto, conhecia os costumes universais e os costumes dos filsofos gregos que, por
exemplo, mantinham vasta cabeleira, fato que influenciou geraes posteriores.
Arrington & Stronstad (2003) preceitua que
... devemos interpretar esta passagem levando em conta as expectativas
culturais de sua cultura, desde que tais costumes no sejam incompatveis com o
cristianismo. Outra que as distines entre o sexo masculino e feminino devem
ser sempre mantidas. Estes princpios gerais devem ser observados, no
importando o contexto especfico em que o cristos se encontrem. (ARRINGTON
& STRONSTAD, 2003, p. 1004).
Segundo ele, talvez Paulo estivesse tentando combater um penteado
unissex.
O Novo Testamento King James, Edio de estudo (2007, p. 397), em nota de
rodap informa que No primeiro sculo, era costume no oriente os homens usarem
os cabelos mais curtos do que o das mulheres. Paulo no acha importante discutir
costumes locais e temporrios ou culturas, desde que esses procedimentos no
transgridam os princpios bsicos do Evangelho de Cristo.
Paulo quando se dirigia para a Sria, antes de embarcar, rapou a cabea em
Cencria (At 18.18), devido a um voto que havia feito. Hoje, rapar careca se tornou
um hbito para muitos, sejam crentes ou no, e ningum os critica. Como possvel
conceituarmos hoje cortes extravagantes? Diante da aldeia global em que se tornou
18
o mundo, o conceito de liberdade foi expandido, em todos os seus termos. Liberdade
sexual, liberdade esttica, liberdade da moda, liberdade da informao (TV, rdio,
jornal, revista, internet...)... Diante de toda essa oferta de liberdade o assembleiano
brasileiro deve evitar cortes
5
masculinos exticos, como o moicano, o de estilo
repicado, o corte com franja entre outros assemelhados ou ainda outros, que com
toda certeza e razo possa confundir o homem com a mulher.
Geisler & Howe (1999) argumentam quo difcil essa passagem que divide
os comentaristas quanto ao seu sentido. A dificuldade est no entendimento da
palavra natureza. Se entendida subjetivamente, natureza denota sentimentos
instintivos ou um sentido intuitivo quanto ao que seja apropriado. Isso pode ser
afetado por hbitos e prticas culturais. (GEISLER & HOWE, 1999, p.465-466) Se
entendida objetivamente, natureza significa a ordem das leis naturais. Paulo fala do
homossexualismo como sendo contra a natureza (Rm. 1:26), e fala que os gentios
tm conhecimento do que certo e do que errado pela natureza, isto ,
pela lei escrita em seus coraes (Rm. 2:15). Concluem que cabelo comprido no
versculo ora em discusso est posto para provar a regra geral que se baseia na
tendncia natural de se diferenciar os sexos com base no comprimento do cabelo.
Existe relao entre f e comprimento de cabelo? Obviamente que no. No
obstante, a manuteno desse costume em alguns aspectos possa tolher a
liberdade do homem, tambm impede que o novo crente que entra pela porta
denominacional assembleiana participe do rol de membros, uma vez que no pode
ser batizado enquanto assim permanecer.
Dos autores lidos, exceto a prtica da maioria em no se criticar um escrito
divinamente inspirado, no se encontrou nada que abonasse a deciso de Paulo em
coibir os homens de ter cabelos compridos. Todos, com luva de pelica, procuram
contornar o assunto. Devido diversidade cultural, o homem at hoje no conseguiu
aprender com a natureza, onde, em que ponto, de que forma desonroso ou
vergonhoso ter cabelos compridos. mais uma questo cultural.
5
CORTES de cabelo masculinos. Disponvel em: http://www.cortesepenteados.com.br/fotos-de-
cortes-masculinos-2.html?PageNo=1 > Acesso em 07/10/2008.
19
Enfim, se em determinada sociedade esse fato possa aparentar algo ruim ou
ser motivo de escndalo o fiel deve abster-se da prtica e fugir de toda a aparncia
do mal, tendo em vista que esse fato no constitui doutrina bblica, no basilar.
Nas demais, por ser apenas mais um trao da temporalidade cultural, admite-se o
costume. Quem assim o faz no erra o alvo.
20
Item 2.2
As mulheres usarem roupas que so peculiares aos homens e
vestimentas indecentes e indecorosas, ou sem modstias (1 Tm 2.9, 10)
9 Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decncia
e discrio, no se adornando com tranas e com ouro, nem com prolas ou com
roupas caras,
10 mas com boas obras, como convm a mulheres que declaram adorar a Deus.
(NVI)
No ambiente assembleiano a vestimenta principal da mulher a saia ou o
vestido. Todavia, embora extremamente conciso este tpico da conveno, o texto
significa muito mais que isso: mulher no pode usar cala comprida, roupa sensual,
bermuda, short, macaquinho, minissaia, vestido decotado, blusa sem manga, biquni
entre outras, quer seja na Igreja ou fora dela. As transgressoras podem perder vir a
ser disciplinadas pela instituio ou at afastadas da comunho da Igreja.
Que a mulher crist deve se portar com decncia, com decoro, no apenas
uma questo denominacional ou de f, mas de bom senso, de bom alvitre,
atemporal. Salomo, j em sua poca, escreveu: Como anel de ouro em focinho de
porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Pv. 11.22 (NVI)
Hoje, o mundo invadiu nossos lares pela TV a cabo, pelo rdio, pela internet
entre outros; h uma invaso cultural avassaladora. A cultura invade outra cultura.
Chegar um ponto em que ser extremamente difcil dizer qual roupa nossa
sociedade usar, pois com essa invaso cultural alguns costumes sociais vo sendo
desfeitos ou deixados de lado, com extrema rapidez, para que a moda estrangeira
de se vestir prevalea. Devido a esse fator temporal de constante mudana, como
afirmar ento com preciso o que roupa de homem ou o que roupa de mulher?
Como dizer que cala comprida roupa de homem e vestido ou saia roupa
de mulher? O que dizer dos escoceses que usam saia (kilt)? So porventura menos
21
homens que os brasileiros? O kilt
6
surgiu no sculo XVI, no norte da Esccia. Cada
cl ou famlia tinha um tipo de quadriculado no kilt, que identificava os seus
integrantes. Os cortes de roupas (masculinos e femininos) por si s so suficientes
para demonstrar suas diferenas. A cala feminina mais justa, mais acinturada,
mais colada ao corpo da mulher, ora com tecido mais fino, ora com estampas florais
entre tantas outras possibilidades. O corte masculino da cala, devido s
compleies fsicas do homem totalmente diferente do corte feminino.
Gower (2002), ensina que as roupas masculinas e femininas (Dt. 22.5) eram
bem parecidas. Em vista de ser to bsica, ela era idntica para homens e
mulheres, exceto que a do homem era geralmente mais curta (na altura do joelho) e
a da mulher mais longa (na altura do tornozelo) e azul. A proibio de trocar as
roupas teve sua origem no estmulo sexual que fazia parte da religio cananita.
(GOWER, 2002, p. 20). Nos tempos bblicos as vestimentas eram bsicas. Usava-se
uma tanga (ou um saiote) geralmente embaixo da tnica. A cabea era coberta
normalmente por um leno ou outra cobertura. J os calados e casaco eram
opcionais. O material com que as tnicas eram feiras podia ser l, linho ou at de
algodo. As de pano de saco ou de pelo de cabra eram geralmente usadas em
pocas de luto.
Outro respeitado historiador Daniel-Rops (2008), nos ensina sobre a
dificuldade que temos hoje em querer relatar a vida diria nos tempos de Jesus a
no ser com os prprios elementos contidos no Novo Testamento.
A VIDA DIRIA
Muito pode ser dito ainda sobre a vida de uma comunidade humana
mesmo depois de sua estrutura geogrfica e histrica ter sido definida e suas
instituies sociais bsicas descritas, juntamente com seu tipo de habitao,
vesturio e alimento; mesmo quando seus mtodos de comunicao, sua
linguagem e escrita, e suas atividades intelectuais e espirituais tiverem sido
tratados. A fim de descrever a vida da sociedade de uma certa poca em sua
existncia diria, seria necessrio destacar todos aqueles pequenos e inmeros
detalhes e costumes, aquelas formas usuais de comportamento, atitude mental,
gostos, necessidades, expresses comuns e supersties que se combinam para
formar a atmosfera de um perodo, e que em sua maioria so to pouco notados,
to praticamente automticos, que ningum se preocupa em registr-los. Todavia,
so justamente essas coisas que fazem o clima da poca e que distinguem um
perodo de outro, mesmo quando estes so bastante aproximados, pois esses
pequenos hbitos e costumes mudam com extraordinria rapidez. Mesmo agora
que possumos uma quantidade enorme de equipamentos para prender o
6
ESCCIA Scotland. Disponvel em: http://tugas.co.uk/escocia.html > Acesso em 08/10/2008.
22
momento que passa jornais, cinema, gravadores difcil transmitir
exatamente o que torna a dcada de sessenta diferente daquela dos anos
cinqenta. Este o p impalpvel da histria, o p iridescente que as asas de uma
borboleta deixam em nossos dedos.
Para a Israel da poca de Cristo a tarefa muito mais difcil. Nossa fonte
principal deveria ser o Novo Testamento, pois o Antigo Testamento se interrompe
mais do que trezentos anos antes. Mas, no preciso dizer que os evangelistas e
apstolos no tinham como alvo fornecer-nos informaes sobre este assunto.
No obstante, uma aluso ocasional e breve destaca algum hbito caracterstico
da poca: o beijo de Judas, por exemplo, e o modo como uma mulher
desconhecida saudou Jesus nos informam a respeito de certas maneiras de falar e
cumprimentar; mas esses fragmentos de informao exata so raros. (DANIEL-
ROPS, 2008, p. 341-349)
Burns (1995, p.87), faz um comentrio a respeito da moda, dizendo ser ela
fruto da cultura, determinada pela cultura, pois cada obra leva consigo as
caractersticas pessoais de quem a produziu, mas a maneira como foi produzida
em sua maior parte ditada pela cultura. Os estilos mudam? Claro que sim, mas
nunca transpondo os seus limites culturais. Mostra como a moda ditada pela
cultura e pelo tempo em ondas regulares, tipo vai e vem. Ora usa saia longa, ora
saia curta; ora saia rodada, ora saia justa, porm sempre observando o limite
cultural.
A liberdade um dos louros da cristandade se Jesus libertou a
humanidade do pecado, ento todos so livres, desde que andem nas suas pisadas
e sob Seu senhorio. A mulher assembleiana no pode se vestir com a liberdade que
deseja em razo do poder da legitimao dos costumes adotados. Sua subjetividade
foi fortemente vilipendiada, solapada.
Mulher de vestido longo, apenas por cumprimento da norma institucional, se
torna flagrante vaidade denominacional. O objetivo desse costume de santidade
que a mulher assim se trajando parece ser mais santa e mais crente que outras que
se vestem com cala comprida, brinco, pinturas, pulseiras e correntes de ouro...
Os sadios princpios leia-se, costumes determinados pela CGAD esto
mais para um tipo de justificao humana, assim como o faziam alguns judeus que
se circundavam, pois criam que a circunciso, um ato formal da lei, visivelmente
exterior, fosse suficiente para a salvao. No pensariam assim tambm os atuais
dirigentes da conveno, mais preocupados com aspectos exteriores a capa do
crente do que com a sua vida interior?
23
Um dos objetivos da igreja ensinar. Ensinar a gloriosa Palavra de Deus
genuna, ensinar que o cristo precisa sim ser transformado por ela, ensinar o
rebanho a crescer na graa, no conhecimento, ser liberto das corrupes deste
mundo, se tornar uma nova criao em Cristo, um imitador de Cristo... certamente
seria muito mais proveitoso para a f, a fim de que o fiel produza frutos bons.
Gondim (1999, p. 12) fala com autoridade sobre o assunto: Quanto mais rico
o rebanho, menos policiamento; quanto mais pobre, maior a disciplina. Comenta
ainda: Como as lideranas evanglicas so masculinas, a maioria das proibies
visa s mulheres.
Champlin (1995, p. 303) ensina que traje decente (katastole) possui dois
significados: o primeiro pode significar vestes que encobrem o corpo e o segundo
diz respeito a comportamento. Afirma que o primeiro se encaixa melhor na
passagem. O autor d sua verso de como o texto poderia ser compreendido:
Tambm desejo que as mulheres que fizerem parte das oraes pblicas se
vestissem com modstia.
Arrington & Stronstad (2003) entende traje como o comportamento ou
conduta e que deve ser modesto ou com pudor e modstia. Entende que esta
ltima expresso tem um sentido sexual, devendo a mulher ser reservada e no
fazer o que desonroso. Levanta um aspecto do contexto cultural da poca:
A ostentao na vestimenta era freqentemente considerada um sinal de
promiscuidade no mundo antigo [especialmente entre os cristos], tais gastos, to
grandes, eram considerados injustificados em razo da difcil situao dos
pobres. (Kroeger e Kroeger apud Arrington, 2003, 1451). Conclui o assunto
dizendo que o adorno apropriado de uma mulher que professa reverncia a Deus
so suas ``boas obras, seu comportamento fiel. (ARRINGTON & STRONSTAD,
2003, p. 1450-1451).
O uso de roupas varia de acordo com a cultura. O uso de anis, de pedras
preciosas, de outras jias ou at mesmo o local do corpo onde ficaro expostas (ou
no) varia de acordo com a cultura. O Antigo Testamento fala com riqueza de
detalhes sobre o uso de anis, jias, pedras entre outros comumente usados pelos
judeus (Ex.: Gn. 24.53; Ex. 12.35; Is. 23.40; Ez. 16.8-14). Paulo no condenou
expressamente esta ou aquela roupa ou jia; com base no contexto cultural de
algumas igrejas em cidades para as quais ele escreveu, apenas orientou o que era
24
melhor para as mulheres, principalmente porque a maioria dos crentes era pobre.
Ele assim procedeu buscando evitar disparidades ou diviso na Igreja entre classes
financeiramente privilegiadas versus classes financeiramente pobres, assim como
ocorreu em Corinto, quando os crentes se reuniam no dia da Ceia do Senhor (1Co.
11.19-22). Ali os ricos comiam primeiro com seus pares e at se embriagavam; os
pobres chegavam com fome depois da jornada de trabalho e no havia mais
alimento para eles.
impossvel compatibilizar costumes com mais de dois mil anos, perodo em
que Paulo escreveu suas epstolas e o mundo em que hoje vivemos. No h
engenheiro que consiga fazer essa ponte!
25
Item 2.3
Uso exagerado de pintura e maquiagem unhas, tatuagens e cabelos -
(Lv 19.28; 2 Rs 9.30)
Tanto quanto j dissemos no tocante vestimenta, aqui tambm o bom senso
deve sempre predominar. Tudo que excesso no bom; em tudo deve haver
equilbrio. A mulher tem o Esprito Santo e um dos frutos de quem O possui
domnio prprio, temperana.
Todavia, pintura e maquiagem so costumes femininos que existem h
milhares de anos. A Jezabel abaixo citada era mulher de Acabe, rei de Israel que
reinou, aproxidamente, entre 874-853 a.C.
Daniel-Rops (2008), acerca do assunto comenta:
Nos dias de Jezabel as mulheres costumavam reparar os estragos dos
anos, tingindo os cabelos com tinta vermelha de Antioquia ou hena de Alexandria.
...
Alm disso, elas se pintavam e se perfumavam. Entre os objetos
encontrados nas escavaes arqueolgicas existem muitos potinhos e apetrechos
para pintar o rosto feitos de osso, marfim ou metal, assim como esptulas para
espalhar cosmticos. Esta era uma prtica antiga: mesmo antes de Abrao ter
chegado Palestina, as mulheres de Creta e do Egito j estavam to
familiarizadas com a maquilagem para os olhos, rosto e lbios quanto as
parisienses de hoje. Este exemplo deveria ter sido seguido muito rapidamente;
L no chamou sua terceira filha pelo nome pitoresco de Pote de Antimnio? O
antimnio ou pouch era usado para escurecer as pestanas e sobrancelhas: os
romanos o chamavam de stibium, sendo conhecido pelas mulheres rabes de hoje
como kohl. Para o rosto e os lbios elas usam a sikra que j foi mencionada como
a substncia para colorir a tinta de vermelho. As folhas de uma espcie de
alfeneiro, chamada al khanna (com frequncia mencionado nos Cantares de
Salomo, esse catecismo de amor), quando reduzidas a cinza fornecem uma tinta
vermelho-amarelada que as mulheres rabes usam para colorir as unhas e as
palmas das mos, e at o cabelo na ausncia de outras tintas. As judias da poca
de Cristo faziam o mesmo? Algumas, mas nem todas. Podemos porm imaginar
Maria Madalena com as sobrancelhas escurecidas, clios azuis, face pintada e
palmas das mos tingidas. (DANIEL-ROPS, 2008, p. 341-349)
Coleman (1991) escrevendo acerca de cosmticos nos d o seguinte parecer:
OS COSMTICOS
Praticamente todos os tipos de cosmticos que temos hoje j existiam na
antiguidade. verdade que os gentios eram mais apreciadores de cosmticos do
que os israelitas, mas estes tambm faziam muito uso deles.Algumas mulheres
usavam batom e pintavam as unhas das mos e dos ps. Os ps faciais tambm
26
j eram conhecidos, e algumas aplicavam rouge vermelho ou preto, utilizando um
basto. Havia at as que usavam maquilagem para os olhos. A rainha Jezabel, por
exemplo, se pintava segundo o estilo das mulheres fencias. Por causa dela essa
prtica talvez tenha sido um pouco rejeitada (2 Rs 9.30). Os profetas Jeremias
(4.30) e Ezequiel (23.40) falam de cosmticos de forma um tanto depreciativa, e
talvez fosse por isso que algumas mulheres judias no se sentissem muito
vontade para us-los. (COLEMAN, 1991, p. 58-74)
Na realidade, no s o uso exagerado que se probe mas at o uso comum
da maquiagem. Uma mulher no pode usar batom, no pode pintar as unhas, no
pode cortar os cabelos conforme seu gosto. A instituio dita as regras e pune quem
no as cumpre. Infelizmente, em cultos de Santa Ceia, as mulheres so lembradas
com sermes que pregam costumes como se doutrina fossem.
Examine-se os fundamentos apresentados pela CGADB para manuteno
dessas condutas:
Lv 19.2 No faam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si
mesmos. Eu sou o Senhor.
2Rs 9.30 Em seguida Je entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os
olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palcio. (NVI)
O texto de Levticos foi endereado aos hebreus e essa prtica lhes era
vedada. Embora a Lei lhes tenha sido dada, certamente o crente hoje deve evitar
prticas dessa ordem, pois seu corpo no lhe pertence, templo do Esprito Santo e
propriedade de Jesus, o Senhor de tudo e de todos. Todavia, nenhum fundamento
h nele para a proibio do uso de cosmticos.
Pfeiffer (1984, p. 131) ensina que os judeus no poderiam ferir sua prpria
carne. Probe-se qualquer desfiguramento voluntrio da pessoa. Incises e
tatuagens no corpo eram praticadas pelos pagos.
Champlin (2001, p. 554) mais abrangente em seu comentrio acerca de
tatuagens. Essa uma proibio contra as mutilaes. Muitos povos pagos
lamentavam-se desse modo pelos mortos. Quem lamentava por um morto cortava-
se como se fosse um sinal de consternao pela morte de um parente ou amigo,
27
pensando que isso adicionava algo sinceridade de sua lamentao. Tais atos eram
estritamente proibidos em Israel.
O texto contido no segundo livro de Reis, fala de uma mulher to conhecida e
to citada pelos pregadores, por seu uma figura, um exemplo do que uma mulher
pentecostal no deve ser. No possvel extrair desse versculo um princpio eterno.
Associar a mulher crist Jezabel, por causa de vestimenta, de esttica facial ou o
cuidado com suas unhas, cabelos... trat-la com desprezo, desrespeit-la. A
figura da rainha usada depreciativamente por pastores para tentar legitimar uma
doutrina contra uso de cosmticos em geral. A legitimao acontece de forma
gradativa, quando com o passar dos anos as meninas aprendem com suas mes o
ensino contra esse mau uso, aprendem tambm com os pregadores, com a
literatura denominacional... Assim, a conduta vai sendo legitimada, aceita, validada.
A exigncia em se obedecer a esses costumes invade um direito exclusivo e
individualssimo das mulheres de se vestir, de se maquilar, de pintar as unhas e os
cabelos entre outros, enfim, de se portar como toda mulher crist deve se portar:
com decncia, com sabedoria, com equilbrio. Todavia, a desobedincia conduta
legitimada, aceita, validada, gera culpa na mulher.
Tournier (1985), escrevendo sobre a culpa, nos diz que:
Vejam a que ponto Jesus Cristo se ops mentalidade primitiva dos tabus
e ao moralismo da lei casustica. Profetas atacaram isto quando denunciaram
constantemente o pecado das pessoas virtuosas e a vaidade dos ritos para
conseguir uma conscincia tranqila. Jesus Cristo d o golpe final, convencendo
da culpa as pessoas moralistas e conscienciosas, proclamando que todos os
homens so igualmente pecadores a despeito de todos os seus esforos; que no
fazendo valer a sua pretensa impecabilidade, mas ao contrrio, arrependendo-
se e confessando a sua culpa que eles encontraro a graa que a apaga.
(TOURNIER, 1985, p. 140).
At que ponto aceitvel a instituio interferir na vida pessoal de seus
membros?
Os textos apresentados pela instituio como fundamentos bblicos para
justificao da conduta vo runa diante do contedo acima. Seus contextos nada
tm a ver com o tema ora em discusso, fato que acaba gerando uma falsa
impresso de deficincia no ensino da liderana.
28
Item 2.4
Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendao bblica
(1 Co 11.6, 15)
6 Se a mulher no cobre a cabea, deve tambm cortar o cabelo; se, porm,
vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabea.
15 e que o cabelo comprido uma glria para a mulher? Pois o cabelo comprido foi
lhe dado como manto. (NVI)
necessrio ter em mente a seguinte questo: a Bblia condena o uso de
cabelos curtos nas mulheres? Os textos a seguir, provaro fartamente, sobejamente,
que a Bblia no condena; algumas instituies, sim.
Zuck (1994, p. 111) faz a pergunta e d a resposta: As mulheres deveriam
usar xales na cabea para ir igreja hoje em dia? No, porque o uso do xale no
mundo greco-romano no teria o mesmo sentido em nossa cultura. Esse ato no
contm o mesmo simbolismo original.
Fee & Stuart (1997) ao tratarem do problema do relativismo cultural assim
comentam:
Quase todos os cristos, pelo menos at certo grau limitado, realmente
traduzem a Bblia para novos contextos. Sem articular a questo exatamente
nesta forma, , por isso que os evanglicos no sculo XX deixam um pouco de
vinho, por causa do teu estmago no sculo I, e no insistem que as mulheres
cubram a cabea nem tenham cabelos compridos hoje, e no praticam o sculo
santo.
..
Freqentemente, tem havido alguns que procuraram rejeitar totalmente a
idia de relatividade cultural, que mais ou menos os levou a argumentar em prol
de uma adoo total de uma cultura do sculo I como sendo a norma divina. (FEE
& STUART, 1997, p. 54-56)
Eles afirmam que no h uma cultura divinamente ordenada. Eles querem
salvaguardar o evangelho de ser transformado em lei atravs da cultura ou do
costume religioso.
29
Morris (1981) salienta que o comprimento do cabelo no especificado, e
no importante. Barclay (apud Morris, 1981, p. 125-126) leciona:
Temos que lembrar que quando Paulo falou acerca das mulheres nos
termos em que o fez nas cartas aos corntios, ele estava escrevendo cidade
mais licenciosa do mundo antigo, e que num lugar assim a modstia tinha que ser
observada e mais que observada; e que de todo injunto arrancar um
regulamento local das circunstncias em que ele foi dado, e fazer dele um
princpio universal. (MORRIS, 1981, p. 125)
O que Barclay fez foi utilizar a primeira regra bsica da hermenutica: um
texto no pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para seu autor ou
seus leitores. (FEE & STUART, 1997, 48).
A Bblia de Jerusalm (2002, p. 2006), em nota de rodap, comenta que O
cabelo curto denotava a homossexualidade feminina (cf. 11,15).
Arrington & Stronstad (2003), comentando o versculo 6, explicam que O
substantivo velar/cobrir (kalymma) no consta neste captulo, mas constam formas
relacionadas (katakalypto cobrir [v. 6, 7]; akatalyptos descoberto [v.5, 13].
Embora a idia de um vu para cobrir a cabea esteja presente, no precisa
ser interpretado como algo que cubra a face. O termo xale pode expressar
melhor a idia. Tanto entre os judeus como entre os gregos, esta pea habitual no
vesturio da mulher, usada para se cobrir, era considerada modesta e era
especialmente apropriada para a adorao. (ARRINGTON & STRONSTAD, 2003,
p. 1000).
Quanto ao versculo 15, Arrington & Stronstad (2003) escreve:
Paulo apela para o que comum, aos costumes cotidianos da poca; era
considerado culturalmente natural que o cabelo da mulher fosse longo, e o do
homem curto ( claro que a natureza no dotou somente a mulher da
possibilidade de ter cabelos longos). Alm disso, Paulo sabia que no reino animal,
como com lees, a natureza dotou o macho com cabelo mais longo e abundante.
A discusso inteira termina com a idia de que o cabelo longo de uma mulher
sua glria, porque dado a ela como uma coberta (peribolaion uma palavra
diferente da que foi previamente usada, mas que tem o mesmo significado.
(ARRINGTON & STRONSTAD, 2003, p. 1003).
Alguns grupos religiosos, entre eles a para-eclesistica CGADB, ensinam e
mantm o uso do cabelo comprido para as mulheres, para aparentar uma maior
santidade atravs do que exteriorizado.
30
Alguns crentes tem receio de serem delatados por outros fiis por
desobedincia a conduta proclamada. O contedo de Salmos 32.8-9 significativo:
No sejam como o cavalo ou o burro, que no tm entendimento mas
precisam ser controlados com freios e rdeas, caso contrrio no obedecem. (NVI).
J que vocs morreram com Cristo para os princpios elementares deste
mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocs se submetem a regras:
No manuseie, no prove, no toque? Todas essas coisas esto destinadas a
perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas
regras tm de fato aparncia de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa
humildade e severidade com o corpo, mas no tm valor algum para refrear os
impulsos da carne. (Cl. 2.20-23 - NVI)
A mulher ao longo do tempo aprendeu a conviver como vassala, crendo que
na sua submisso aos ensinos pastorais estaria sendo fiel ao Senhor, pois assim lhe
foi ensinado. Com o decorrer dos anos, os costumes foram sendo completamente
legitimados, e tais ensinos ficaram nelas arraigados e aceitos como preceitos
corretos, como doutrina bblica, como verdade absoluta.
Isto posto, Paulo no fixou a medida, o comprimento dos cabelos; tampouco,
proibiu o corte dos cabelos. O desconhecimento ou o descaso do relativismo
cultural, a no valorao do momento social que tem produzido mudanas profundas
na sociedade (alis, um fenmeno mundial), a inflexibilidade legalista levada a
extremos entre outras hipteses, tem imposto condutas aos fiis sem o devido
cuidado com o respaldo bblico que possam fundament-las.
No fundo no fundo, a manuteno dessas condutas at hoje sugere uma
disfarada vaidade institucional em se valorizar o exterior em detrimento da
verdadeira busca pela santidade. Essa prtica produz na mulher crist hipocrisia
o grande pecado que Jesus combateu e a falsa segurana de que em
assim procedendo estaria demonstrado que uma crist acima de qualquer
crtica.
31
Item 2.5
Mal uso dos meios de comunicao: televiso, internet, rdio, telefone
(1 Co 6.12; Fp 4.8); e
1 Co. 6.12 Tudo me permitido, mas nem tudo convm. Tudo me permitido,
mas eu no deixarei que nada me domine.
Fp. 4.8 Finalmente, irmos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que
for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amvel, tudo o que for de boa fama, se
houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. (NVI)
A tecnologia avana a cada segundo. A inovao est presente em todos os
setores e incontveis so os seus benefcios. Impossvel para o homem atualizado
viver hoje sem estar conectado internet, ao uso do telefone celular, a TV a cabo,
ao rdio Nextel que permite que se fale em conferncia com pessoas diversas nas
principais cidades do Brasil e do exterior... entre outros.
A religio no pode abrir mo da tecnologia. Em seu estudo, Jos Maria da
Silva
7
, nos fala que numa sociedade altamente tecnologizada, com uma realidade
diversificada, mutvel, complexa e, por vezes, pouco transparente, as religies no
podem deixar de empregar mtodos cientficos para o mais objetivamente possvel
analisar a realidade quanto s suas leis internas e quanto s suas possibilidades de
futuro (KNG, 2001, p. 75).
Porm, nem tudo so flores. O mau uso da tecnologia pode trazer problemas
diversos. Resumindo sucintamente, trs problemas podem ser apontados de
imediato: um de natureza fsica (enfermidade), outro de natureza social e outro ainda
de natureza espiritual.
7
SILVA, Jos Maria da. Estudo: Proximidades Teolgicas Ps-Modernidade em Hans Kng e
Andrs Torres Queiruga
32
Fisicamente, estar horas a fio diante de um computador trs riscos sade
tais como leses fsicas por esforo repetitivo nas mos ou nos braos, irritao nos
olhos por muito esforo ou pela luminosidade do monitor de vdeo, sedentarismo,
tendinites, dor nos ps ou nas costas devido postura incorreta, entre outros.
Jovens e adolescentes, por sua falta de maturidade, esto perdendo muito
socialmente: no h mais tempo para relacionamento familiar. Alguns passam
grande parte do dia trancados em seus quartos plugados na rede. No conversam,
no passeiam, no visitam parentes, no do satisfao sobre o que esto fazendo.
No sentido espiritual tanto pior, pois a fragilidade espiritual neste perodo de
ps-modernidade patente, pois a f recebe intensivos ataques de todos os lados
inclusive do atesmo. O fiel precisa mais do que nunca, da ajuda do Esprito Santo
para controlar-se diante de tantas ofertas: de marketing (um shopping dentro de
casa), de sexo (a pornografia est escancarada de graa na internet, alm de estar
na TV aberta e ainda mais na TV a cabo), de prticas ilcitas (golpes atravs da
rede), de convites indesejveis ou indecorosos por e-mail, jogos online,
comunidades (tipo Orkut) que prejudicam mais do que ajudam entre outros. A
consulta a sites inapropriados (ex.: pornografia), a busca desenfreada por
relacionamentos escusos com amigos ou amantes virtuais pode confrontar ou at
destruir a vida santificada que o cristo deve ter.
Se o cristo no produzir frutos espirituais, se no houver um domnio prprio
controlado pelo Esprito de Deus ele sucumbir. O amor a Jesus, ao seu senhorio
somado ao poder regenerador do Esprito Santo pode libertar o homem da busca
pelo pecado e fazer dele um verdadeiro embaixador de Cristo.
O uso da tecnologia para fins pacficos e sadios trs confortos e alegrias
nunca dantes imaginados. Estar numa chcara no meio do mato e falar pelo rdio
com o filho em outro continente, instalar uma pequena antena para captar sinais do
satlite (SKY, por exemplo) e assistir filmes com a famlia e com os amigos
presentes, estar beira de uma piscina, no meio da floresta amaznica ou do Saara
e poder atender o celular (GSM ou via satlite), acessar a internet numa emergncia
ou por puro prazer, para pesquisa cientfica, usando o notebook sem fio (wireless) ou
33
mesmo conectado ao celular so mimos que todos querem ter. Enfim, so avanos
dos quais ningum quer abrir mo.
E o que mais interessante: at aos pobres se estendeu o acesso
tecnologia. A navegao independe da condio scio-econmica; finalmente um
osis onde ciberneticamente todos so iguais?! Devido expanso das
transnacionais, aqui se instalaram grandes empresas que, impelidas pela
competitividade, baixaram seus preos tornando-os acessveis a quase todas as
classes sociais. comum passar numa favela e ver antenas parablicas, ver
pessoas se comunicando pelo celular, alguns com joguinhos de mo entre outros.
A instituio no deve proibir o uso da tecnologia. Proibir no resolve, no
gera resultados; gera, sim, desobedincia. Ela deve instruir seus fiis mostrando
tanto as coisas boas como as danosas, tantos os benefcios quanto os malefcios
que ela tem proporcionado.
lcito ao fiel usar tudo o que a tecnologia pode lhe oferecer. Paulo ensinou
com muita clareza, com grande sabedoria:
Tudo me permitido, mas nem tudo convm. Tudo me permitido, mas eu no
deixarei que nada me domine. 1Co. 6.12 (NVI)
O fiel pode fazer qualquer coisa, livre, mas nem tudo lhe convm, nem tudo
edifica. Mais adiante Paulo arremata: Ningum deve buscar o seu prprio bem, mas
sim o dos outros.
Quanto s coisas que no convm no devem ser utilizadas. Aqui vale o
emprego da mxima: melhor obedecer que sacrificar.
Tito d um maravilhoso ensino e uma sria advertncia quando diz:
Para os puros, todas as coisas so puras; mas para os impuros e
descrentes, nada puro. De fato, tanto a mente como a conscincia deles esto
corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam; so
detestveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tt .1.15, 16
(NVI)
34
Item 2.6
Uso de bebidas alcolicas e embriagantes (Pv. 20.1; 26.31;
1 Co 6.10; Ef. 5.18).
Pv. 20.1 O vinho zombador e a bebida fermentada provoca brigas; no sbio
deixar-se dominar por eles. (NVI)
O livro de Provrbios de estilo sapiencial. Acerca desse livro Fee & Stuart
(1997) ensinam que um provrbio uma expresso breve e especfica de uma
verdade. Falando acerca da compreenso dos provrbios assim escrevem:
... Devem ser compreendidos de modo razovel e aceitos dentro de suas
prprias condies. No declaram tudo acerca de uma verdade, mas apontam em
direo a ela. Interpretados literalmente, freqentemente so tecnicamente
inexatos. Mas como diretrizes facilmente aprendidas para formar um
comportamento selecionado, so insuperveis. (FEE & STUART, 1997, p. 207)
Provrbios no devem ser encarados como doutrina ou fundamento como
acima exposto no presente tpico para deveres dos cristos, porque nele no est
contido nenhum princpio eterno. Dever (2008, p. 537) fala a esse respeito quando
diz: Claro que o livro de Provrbios, por melhor que seja ele, no fornece a palavra
final que encontramos na sabedoria de Deus. Para isso, temos de nos voltar para o
Novo Testamento.
Prova contundente de que um provrbio no se constitui em doutrina pode ser
visto no mesmo livro, onde fala exatamente o contrrio do que foi visto na passagem
anterior (Pv. 20.1):
Pv. 31.6 Dai bebida forte ao que est prestes a perecer, e o vinho aos amargurados
de esprito.
Ora probe, ora autoriza. Sendo um livro de sabedoria, carece de um olhar
mais cuidadoso. Mostra excelentes condutas como obedecer aos pais, o exerccio
da caridade, Deus recompensa os que buscam a verdade, o ser humano deve
35
trabalhar, ter temor ao Senhor entre outros, exemplos de teologia prtica. Bons
exemplos devem ser seguidos em todos os tempos.
O comentrio que se faz ao presente item no de maneira alguma uma
apologia bebida e sim um esclarecimento. Apresenta-se inicialmente uma opinio
mdica sobre o assunto. Campos
8
, em seu site na Internet, demonstra os seguintes
benefcios apresentados pelo vinho:
Os benefcios do vinho Segundo pesquisas comprovadas, se ingerido
moderadamente, o lcool traz benefcios ao nosso organismo, sendo que
associado a uma fruta, como a uva, age ainda melhor sobre as paredes das
artrias, alm de abrir o apetite. Responsvel pela elevao das lipoprotenas de
alta densidade, alm de diminuir a agregao das plaquetas, o resultado ser
benfico proteo do aparelho cardiovascular. As pessoas portadoras de
diabetes, hipertensos, alcolatras, hepatite e outras doenas, esto
impossibilitadas de aproveitar os benefcios do vinho. Com exceo dos indivduos
que sofrem de alta acidez estomacal, a acidez contida no vinho ajuda as funes
gastricas intestinais. Outro benefcio do vinho, so as substncias que ele contm,
que retardam o envelhecimento celular e orgnico.
O vinho pode sim ser bebido com moderao, com parcimnia; tudo que
excessivo, no bom. O cristo deve ter domnio prprio, um dos maravilhosos
frutos do Esprito. Ele pode tomar um clice de vinho, o que at recomendado por
cardiologistas por fazer bem ao corao, fato pblico e notrio. Todavia, ningum
deve se embriagar. O cristo deve sim, ser diferente do homem velho para ser nova
criao e um imitador de Cristo.
O livro de Provrbios reflete o trabalho de Salomo que catalogou inmeros
provrbios existentes em sua poca, alm dos que ele possivelmente possa ter
criado. Sellin & Fohrer (2007, p. 445-446) ensinam que embora se atribua a sua
autoria a Salomo, que era considerado o sbio por antonomsia, o que o livro
realmente oferece um apanhado da doutrina sapiencial israeltica ou no-
israeltica, recobrindo um espao de vrios sculos.
Quanto ao vinho, este foi fartamente consumido pelos judeus no Antigo
Testamento (Gn. 9:21, Gn. 14:18, Gn. 27:25, Lv. 10:9, Dt. 14:26, Jz. 19:19, 2 Sm 13:28,
2 Sm 16.2, 1Cr. 16.3, J 1:13, 18, Ec. 2.3; 9.7, Ct. 5.1; 8.2, Is. 25.6, Ez. 44.21, Am. 6.6).
8
CAMPOS, Shirley de. Gastronomia - Benefcios do Vinho. Disponvel em:
http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias.php?noticiaid=492&assunto= > Acesso em 03/10/2008.
36
O primeiro milagre de Jesus foi transformar gua em vinho. E ele tambm
experimentou do fruto da vide em algumas ocasies (Ex.: Ceia do Senhor).
Paulo, conhecedor das propriedades curativas do vinho, orientou Timteo,
seu filho na f, que usasse de um pouco de vinho, por causa do teu estmago e das
tuas freqentes enfermidades 1 Tm. 5.23. Portanto, beber vinho no pecado!
Deve-se apenas us-lo com sabedoria e prudncia.
1 Co. 6.10 nem ladres, nem avarentos, nem alcolatras, nem caluniadores, nem
trapaceiros herdaro o Reino de Deus
Ef. 5.18 No se embriaguem com vinho, que leva libertinagem, mas deixem-se
encher pelo Esprito, (NVI)
O substantivo alcolatra significa viciado em bebidas alcolicas. Todos os
crentes admitem que Jesus liberta e liberta tambm do vcio, quando o novo
convertido assim o deseja. Quando isso no ocorre, a impresso que se tem que
no houve converso.
Mas cuidado para no misturar as coisas. Tomar um clice de vinho em data
festiva, aniversrio de casamento, o encontro com um velho amigo, um jantar luz
de velas para comemorar suas bodas... nada disso tem a ver com o pecado do
alcoolismo. Existe verdade quando se diz que ningum comea bebendo uma
garrafa. Comea bebendo um pouquinho at, talvez, se tornar um alcolatra. Se no
se tem domnio, se no tem freios, no respeita limites, ento fique longe do vinho
ou do lcool!
O bom senso deve prevalecer sempre. O alcoolismo motivo de escndalo
para cristos e no-cristos, uma misria para o ser humano.
No versculo apontado como fundamento pela CGADB, Paulo, escrevendo
aos cristos habitantes da pag Corinto, nega lugar no cu para os alcolatras.
37
Essa condenao ao alcoolismo foi aqui repetida por Paulo. Tudo indica que
aquela igreja tinha srios problemas. Paulo, no captulo 5 dessa mesma carta
ensina:
11 Mas agora estou lhes escrevendo que no devem associar-se com qualquer que,
dizendo-se irmo, seja imoral, avarento, idlatra, caluniador, alcolatra ou ladro.
Com tais pessoas vocs nem devem comer. (NVI)
Reitere-se: o texto acima se refere aos alcolatras, aos bbados e aos
demais citados no versculo.
No se pode aqui condenar Timteo que foi aconselhado a fazer uso de
apenas um pouco de vinho. Tomando como exemplo, como ningum pode condenar
Timteo assim tambm no podemos condenar os demais cristos por tomarem um
pouco de vinho nos dias de hoje.
Para os ministros e lderes em geral aconselhvel evitar o uso do lcool
(1Tm 3.3; Tt. 1.7), pois nunca se sabe quando a igreja vai necessitar de seus
servios. Ex.: seria desastroso para um pastor ir a um funeral com hlito alcolico!!!
38
3. ANLISE DOS FATORES RESPONSVEIS PELA MANUTENO DOS
COSTUMES AT OS DIAS DE HOJE
Com o decorrer do tempo os costumes sofrem alteraes. No h outra fonte
paralela s Escrituras que traga uma revelao complementar. Deste modo, h que
se fazer uma anlise profunda desses costumes para que no venham a confrontar
a Palavra de Deus.
Ethos
9
, na Sociologia, uma espcie de sntese dos costumes de um povo.
O termo indica, de maneira geral, os traos caractersticos de um grupo, do ponto de
vista social e cultural, que o diferencia de outros. Seria assim, um valor de identidade
social.
Para a Administrao Pblica, Nobrega
10
ensina que ethos significa o
conjunto de valores e hbitos consagrados pela tradio cultural de um determinado
povo. Aqui, tica se traduz comumente por moral;...
Freston
11
(1996, p. 76), em sua Breve histria do pentecostalismo, diz que:
A Assemblia de Deus (AD) tem um ethos sueco-nordestino. Comeou com os
nrdicos e passou para os nordestinos. Sem entender as marcas dessa trajetria,
no se entende a AD.
3.1 O machismo dos novos lderes brasileiros do norte/nordeste
Na realidade, a contribuio brasileira para a formao desses costumes foi
inicialmente nortista. Com a chegada em Belm do Par, os missionrios pioneiros
Gunnar Vingren e Daniel Berg foram se aculturando e surgindo novos lderes
nativos. A cultura machista desses novos lderes deu contribuio decisiva para a
formao dos costumes at hoje mantidos.
9
ETHOS. Disponvel em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ethos > Acesso em 08/10/2008.
10
NBREGA, Adriano Rodrigues. Artigo: A centralidade da tica na Administrao Pblica. Disponvel
em: http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/ouvidoria/ActionServlet?idInformacao=222&objeto=br.com.
tellus.ouvidoria.negocio.InformacaoUtil&acao=recover > Acesso em 08/10/2008.
11
ANTONIAZZI, Alberto. Nem anjos nem demnios: Interpretaes sociolgicas do pentecostalismo.
39
Portanto, o problema dos usos e costumes nas Assemblias de Deus
brasileiro, no ocorrendo em outros pases. A Colmbia um dos maiores sucessos
de trabalho missionrio fora do Brasil, realizado por um pastor da Assemblia de
Deus que no fora enviado pela igreja. Jos Satrio dos Santos iniciou os trabalhos e
at hoje o preside, tendo sabiamente liberado a igreja local dos costumes derivados
do regionalismo brasileiro.
Nos Estados Unidos, onde nasceu a igreja, os tabus comportamentais que,
no comeo, atingiam atividades fora dos horizontes sociais dos membros, passaram
a ser disfuncionais e foram relaxados. (FRESTON, 1996, p. 85).
Esses costumes foram to fortes no incio do pentecostalismo brasileiro, to
marcantes, que os cristos da denominao eram taxados pejorativamente, como
crentes, bblias, glrias, aleluias e at bodes. (MARIANO, 2005, p. 187).
Nas culturas norte/nordestina o homem recebe uma formao extremamente
machista e adota esse modus vivendi que lhe transmitido pela cultura. Depois se
converte f crist, mas o trao cultural no se perde, permanece.
Em artigo publicado na revista Espao Acadmico, Andrade (2008)
12
analisa
as representaes masculinas contidas no filme O Auto da Compadecida e nos
trs um relato acerca do machismo na regio nordestina.
As problematizaes dos estudos de gnero tm sido necessrias para a
superao de preconceitos e esteretipos. A recorrncia de imagens de um
nordestino macho, com caractersticas rudes e rgidas acaba por incidir num
trabalho pedaggico que inscreve nos corpos o gnero e a sexualidade
legtimos. Essa influncia crist e sexista presente no filme, constroem
representaes de gnero associadas aos espaos histrico e cultural, como um
apelo a mitos fundantes. No se espera encontrar no serto um homem que fuja a
tais normas, pois pelas imagens recorrentes ele vem sendo reproduzido em sua
materialidade, associado figura do cangao, do coronel, do jaguno, do matador,
figuras firmes e de masculinidades especficas. Ceballos (2000: p.4).
O nordestino, ento, emerge historicamente como um conceito capaz de
enfrentar e lidar com novos modelos de masculinidade. Um conceito bastante
original, criador de um esteretipo exorbitantemente masculino, conhecido no
Brasil inteiro pela imagem do sertanejo ignorante, forte, bravo... um
cabra-macho. Desta forma, o habitante da regio Nordeste ganhava uma
12
ANDRADE, Vivian Galdino de. Corpo em cena: tecendo masculinidades nas imagens em
movimento. Disponvel em: http://www.espacoacademico.com.br/080/80andrade.htm > Acesso em
30/09/2008. Revista Espao Acadmico n 80, Ano VII, Janeiro/2008.
40
identidade e passava tambm a identificar-se com a prpria regio. (ANDRADE,
2008, Revista Espao Acadmico n 80 , Ano VII, Janeiro/2008).
O Pr. Jabes Guedes de Alencar, dissidente da Assemblia de Deus Min
Belm e atual presidente do Min. Bom Retiro, lder conhecido no meio pentecostal,
entrevistado em 30.3.93 por Mariano (2005) alega que:
O grande problema foram os nortistas. Ou seja, foram os nossos irmos l
do Norte do pas que implantaram um pouco mais essa idia. E isso ficou. Meu
prprio pai de l, meus parentes, meu av era pastor tambm. Porque o nortista
tem aquele jeito sistemtico, machista e tal. Voc pode ver que os costumes, se
voc puder relacionar 100 costumes, 95 so para mulheres e cinco para homens
(...) (MARIANO, 2005, p. 206).
Campos Jr. (1995, p. 85) explicita que as interpretaes de passagens
bblicas favorecem a hegemonia masculina sobre o sexo feminino, seja no interior ou
na direo das igrejas pentecostais. As cartas paulinas, de forma especial as
destinadas aos corntios, do a base para uma suposta superioridade do homem.
3.2 O sistema de governo eclesistico adotado
Outro fator responsvel pela manuteno dos costumes o sistema de
governo eclesistico adotado. O poder fica concentrado nas mos de um presidente
o presidente da CGADB ou do presidente do ministrio. O problema se agrava
porque no h mecanismos eficientes que impeam a investidura no cargo por
reiteradas e consecutivas vezes. Quando o poder permanece por longos anos nas
mos de uma mesma pessoa, mudar para que?
Na Assemblia de Deus, a estrutura denominacional dependente do poder
central. Os pastores setoriais e tambm das congregaes ligadas a cada setor no
tem poder para mudar ou aceitar a quebra dos usos e costumes institudos.
Alencar (2005) fala acerca desse tipo de governo de igreja e compara:
Igrejas como a Catlica e AD, em seu episcopalismo vitalcio, dentre
outras, nem tentam disfarar. A revelao dada exclusivamente ao dono da
Igreja e vamos em frente. A Inquisio existe, inclusive, para lembrar isto.
Nada discutido, conversado, avaliado ou votado. O pacote est pronto.
nica opo: obedecer. (ALENCAR, 2005, p. 61)
41
Freston (1996) nos relata uma fala do presidente da CGADB, extrada do
jornal assembleiano Mensageiro da Paz, de fevereiro de 1991:
No costume dos crentes na Assemblia de Deus o uso de pinturas,
brincos, etc. No somos retrgrados, desejamos [apenas nos conservar]
irrepreensveis... No danifique a Assemblia de Deus, ame-a ou deixe-a.
Pr. Jos Wellington Bezerra da Costa, presidente da Conveno Geral da AD.
(FRESTON, 1996, p. 76).
Essa frase mal interpretada, pode dar a entender que h certo menosprezo
pelas igrejas co-irms que no adotam os mesmos costumes.
Almeida (2007), em sua dissertao apresentada ao Programa de Ps-
Graduao em Cincias da Religio da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como
requisito parcial obteno do ttulo de Mestre em Cincias da Religio, comenta
essa fala do presidente da CGADB:
O comentrio do Pastor Jos Wellington Bezerra da Costa, Presidente da
CGADB, em seu artigo no Mensageiro da Paz, de fevereiro de 1991, tambm deve
ser apenas considerado como figura de retrica, pois em sua igreja as mulheres
sempre esto bem produzidas, inclusive seus familiares. A ateno que deve
ser dada ao seu comentrio, a abrangncia no alcance das publicaes da
CPAD e sua figura de presidente e a de todos os pastores das Assemblias de
Deus no Brasil (ALMEIDA, 2007, p. 71, 72).
O supra citado comentrio feito pelo presidente da CGADB, bem catalogado
por Freston (1996), gera hipocrisia pois o que vale para os outros no vale para os
mais presentes. Esse comentrio traz lembrana um conhecido provrbio de
autoria desconhecida: Aos amigos tudo! Aos inimigos, a lei.
Oliveira Pinto (2004, p. 53-54) escreve que a principal caracterstica que
Jesus condenava nos fariseus era a hipocrisia e recomenda a leitura de Mt. 6.1-18;
23.1-7. Assim como faziam os fariseus na poca de Jesus, tenho visto crentes to
puros e to santos que no se misturam com no crentes. Esse tipo de crente
justifica seu comportamento orgulhoso dizendo que no se assenta na roda dos
escarnecedores.
Freston (1996) comenta que o sistema de governo adotado pelas
Assemblias de Deus pode ser caracterizado como oligrquico e caudilhesco.
42
Surgiu para facilitar o controle pelos missionrios e depois foi reforado pelo
coronelismo nordestino. Comenta ainda, com pleno conhecimento do assunto:
O pastor-presidente , efetivamente, um bispo, com talvez mais de cem
igrejas e uma enorme concentrao de poder.
...
Embora aconselhado pelo ministrio, o pastor-presidente permanece a
fonte ltima de autoridade em tudo... assim como o patro da sociedade
tradicional que, mesmo cercado de conselheiros, maneja sozinho o poder.
(FRESTON, 1996, p. 86).
Na grande maioria das igrejas evanglicas, os pastores deixam suas antigas
profisses para trabalhar em perodo integral, fato que gera uma srie de
conseqncias. A conseqncia mais imediata que eles acabam se tornando
dependentes do emprego, presos, merc da igreja local mantenedora ou do
poder central, dependendo do sistema adotado pela denominao.
Outra conseqncia que ficam constrangidos a concordar com as
proposies da maioria dominante, ainda que particularmente contrrios a ela. Esse
problema gera conflitos diversos, ainda que no trazidos tona.
Mendona (1990) comenta um desses conflitos citando as Assemblias de
Deus.
... nas Assemblias de Deus comeam a se verificar conflitos entre
conservadores e alguns segmentos tendentes a modificar costumes tradicionais
pentecostais e, em particular, das Assemblias, com referncia s vestes,
principalmente das mulheres, ao uso da televiso, rdio, cinema etc. A ascenso
social e o acesso instruo acabam atingindo seriamente os pentecostais. Deve
haver por isso muita desistncia. (MENDONA, 1990, p. 51)
3.3 O poder da legitimao
Os costumes como j comentado, atingem fortemente as mulheres que tm
sofrido maior opresso que os homens e tido poucas oportunidades. Acabaram
aceitando esses costumes como verdadeiro ensino do Evangelho, como dogma de
f. O ensino ficou to arraigado na mente dessas mulheres que a prtica das
condutas contidas nos itens 2.2 a 2.4 desta pesquisa, foi assimilada como pecado.
Uma das contribuies deste trabalho evitar que esse fato venha a gerar maiores
43
desvios e distores no corpo de Cristo, criando a falsa concepo de que s os que
adotam esses costumes esto livres desses pecados.
O verdadeiro ensino bblico revela que no corpo de Cristo no h nem grego, nem
judeu, circunciso, nem incircunciso, brbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo tudo em
todos, independentemente de denominao, costumes de santificao entre outros.
Alguns costumes se tornam tabus e podem gerar culpa, quando
desobedecidos. Tournier (1985), fazendo uma anlise do sentimento de culpa, fala
acerca da libertao dos tabus.
A culpa do fazer se ligam os tabus e toda uma atitude moralista, cujos
efeitos patognicos so denunciados pela psicologia moderna. O tabu uma
proibio mgica: Isto impuro, no toque; isto proibido, no faa. Tabus so
proibies carregadas de angstia ameaadora. O moralismo procede disso, a
criao de um cdigo rigoroso de proibies, de um cdigo moral. J
mencionamos o comentrio de um jovem, que o Dr. Bovet nos relatou: Religio
o que no se deve fazer! (TOURNIER, 1985, p. 136)
Esse cumprimento do dever aos costumes legitimados pode gerar no crente
um tipo de autojustificao. O fiel cr que obedecendo a essas imposies estar
sendo fiel a Deus e por isso at merecedor de graa a graa-barata! Graa a
ddiva gratuita de Deus que gera um novo carter, uma nova criao. No obtida
por meio de obras humanas ou cumprimento de regras. A nova criao jamais
poderia ser vinculada ao legalismo.
Berger (1985, p. 45) diz que a religio foi historicamente o instrumento mais
amplo e efetivo de legitimao. Toda legitimao mantm a realidade socialmente
definida. A religio legitima de modo to eficaz porque relaciona com a realidade
suprema as precrias construes da realidade erguida pelas sociedades
empricas.
44
CONCLUSO
Repetindo Berger, a religio ajuda a manter e a legitimar o mundo dos que
crem por meio das vivncias e das experincias delas com o sagrado.
Weber afirma que um dos papis da religio oferecer sentido e significado
para o indivduo ou para a coletividade que cr ou que teve uma experincia
religiosa.
A estrutura denominacional da Assemblia de Deus no Brasil, por orientao
da CGADB, sua conveno geral, persiste na manuteno dos costumes, ao que
denominam de identidade das Assemblias de Deus. O presente trabalho pretende
mostrar um novo ngulo o da libertao dos costumes apresentando
fundamentos discordantes dos apresentados pela CGADB, trazendo opinies de
renomados telogos e socilogos da religio, figuras proeminentes nos meios
acadmicos. imprescindvel lembrar que a igreja principal; a conveno
acessria. A igreja subsiste por si s; a conveno depende da igreja. Jamais o
acessrio pode querer se sobrepor ao principal.
A liderana totalitria, se ope ferrenhamente mudanas desse tipo.
Ren Padilla, em entrevista revista Cristianismo Hoje (Ed. 3, 03/2008, p. 59)
comenta: A liderana latino-americana ainda muito dada ao caudilhismo. Onde h
uma liderana piramidal, hierrquica, no h muito o que se esperar do futuro.
Freston (1996) argumenta que:
Depois de algumas sangrias, causadas pela questo dos costumes,
pode ser que a AD acabe aceitando as suas novas igrejas de classe mdia e
mdia alta. A presso de faz-lo deve ser grande, pois elas representam dinheiro
e apoio poltico, e seus pastores no podem ser coagidos porque tem futuro
garantido com o respaldo de congregaes prsperas. (FRESTON, 1996, p. 95)
45
Apenas para argumentar, vale a pena perguntar: Ser que somente o apelo
financeiro far com que a CGADB se abra para os novos tempos? No seria melhor
haver uma mudana baseada no ensino da verdade bblica?
Esta pesquisa tentou mostrar tambm como a legitimao opera na
sociedade religiosa. Mostrou tambm que esses costumes so vistos pela instituio
como sinal de santidade, irrepreensibilidade. Frise-se que o exterior jamais
refletiu nem refletir sinal de santidade.
Situao semelhante a essa de costumes de santidade vemos na
maravilhosa narrativa de Mateus 23, onde Jesus faz uma crtica dirigida aos fariseus:
4 Pois atam fardos pesados e difceis de suportar, e os pem aos ombros dos
homens; eles, porm, nem com o dedo querem mov-los; 13 Mas ai de vs, escribas
e fariseus, hipcritas! pois que fechais aos homens o reino dos cus; e nem vs
entrais nem deixais entrar aos que esto entrando. Nenhuma denominao deve
incidir nesse mesmo erro.
V-se com profunda tristeza, que muitas pessoas no decorrer dos anos
carregaram cicatrizes, mgoas no perdoadas e frustraes causadas pelos
diversos efeitos malficos do legalismo.
Jamais poder ser esquecido que no corpo de Cristo no h nem grego, nem
judeu, circunciso, nem incircunciso, brbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo tudo
em todos.
preciso ensinar os fiis a crescer na graa e no conhecimento.
As lideranas precisam estar cientes que nos tempos ps-modernos as
alteraes na sociedade foram muito significativas. Muitas questes so levantadas
dia aps dia. Nada absoluto, nada e mais definitivo, tudo relativo, excesso de
individualismo, subjetividade... Num ambiente assim a radicalizao no impera, pois
cada dia mais, a palavra de ordem flexibilizao. Quem no for flexvel, perde
espao, perde lugar. No associar flexibilidade com pecado, de modo nenhum.
Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado praticado pelo ser humano.
46
Embora a Bblia tenha valor absoluto a aplicao dos saudveis princpios
deve ser contextualizada.
No basta apenas taxar de liberal, reacionrio ou rebelde aquele que busca
por mudanas, por flexibilizao, principalmente quando fortes argumentos so
apresentados, quando fundamentos slidos so trazidos tona.
Importante trazer aqui mais uma vez, por emprstimo, a concluso de
Almeida (2007):
Assim, que este trabalho sirva como reflexo aos mais interessados no
desenvolvimento da igreja pentecostal, como lembrete de advertncia s atitudes
pessoais de homens que, no observando no contedo bblico, suas decises,
transformaram assuntos mal interpretados sobre os usos e costumes de suas
congregaes em dogmas santificantes que em nada santificavam seus fiis,
apenas os distinguia da comunidade protestante em geral. (ALMEIDA, 2007, p.
113)
A citao de Mulholland (2004, p. 223-224). continua a bradar em altas vozes:
Toda organizao precisa mudar se quiser sobreviver. Quando se muda se amplia
a viso da igreja, se mostra flexibilidade, se cria oportunidades para alternativos
entre outros.
47
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
ALENCAR, Gedeon Freire de. Protestantismo Tupiniquim: hiptese da (no)
contribuio evanglica cultura brasileira. So Paulo : Arte Editorial, 2005.
ALMEIDA, Jode Braga de. O sagrado e o profano: construo e desconstruo dos
usos e costumes nas Assemblias de Deus no Brasil. Disponvel em:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&c
o_autor=56327 > Acesso em 07/10/2008
ANDRADE, Vivian Galdino de. Corpo em cena: tecendo masculinidades nas
imagens em movimento. Disponvel em:
http://www.espacoacademico.com.br/080/80andrade.htm > Acesso em 30/09/2008.
Revista Espao Acadmico n 80 , Ano VII, Janeiro/2008.
ANTONIAZZI, Alberto et al. Nem anjos nem demnios: Interpretaes sociolgicas
do pentecostalismo. 2 ed. Petrpolis : Vozes, 1994.
ARAJO, Isael de. Dicionrio Movimento Pentecostal. Rio de Janeiro : CPAD, 2007.
ARRINGTON, French L.; STRONSTAD, Roger. Comentrio Bblico Pentecostal
Novo Testamento. Rio de Janeiro : CPAD, 2003.
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1980.
BERGER, Peter Ludwig. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociolgica
da religio. So Paulo : Paulus, 1985.
BERKHOF, Louis. Princpios de Interpretao Bblica: para orientao no estudo das
Escrituras e para uso em seminrios e institutos bblicos. 2 ed. So Paulo : Cultura
Crist, 2004.
BRUCE, F. F. Paulo o apstolo da graa. So Paulo : Shedd Publicaes, 2003.
BURNS, Barbara; AZEVEDO, Dcio de; CARMINATI, Paulo Barbero F. de.
Costumes e culturas: Uma introduo Antropologia Missionria. 3 ed. So Paulo :
Vida Nova, 1995.
CAMPOS, Leonildo S. As origens norte-americanas do pentecostalismo brasileiro:
observaes sobre uma relao ainda pouco avaliada. REVISTA USP, So Paulo,
n.67, p. 100-115, setembro/novembro 2005.
CAMPOS, Shirley de. Gastronomia - Benefcios do Vinho. Disponvel em
http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias.php?noticiaid=492&assunto=
48
> Acesso em 03/10/2008.
CAMPOS JR., Lus de Castro. Pentecostalismo: sentidos da palavra divina. So
Paulo : Editora tica, 1995.
CGADB Conveno Geral das Assemblias de Deus no Brasil. Disponvel em:
http://advi.com.br/cgadb/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=36
> Acesso em 16/05/2008.
CHAMPLIN, R. N. O Antigo Testamento Interpretado: versculo por versculo. 2 ed.
So Paulo : Hagnos, 2001, v. 1.
______________. O Novo Testamento Interpretado: versculo por versculo. So
Paulo : Candeia, 1995, v. 4.
COLEMAN, William L. Manual do tempos & costumes bblicos: o contexto cultural,
social, poltico e religioso das terras e dos povos da Bblia, com base nas mais
recentes descobertas arqueolgicas. Venda Nova : Editora Betania, 1991.
CORTES de cabelo masculinos. Disponvel em:
http://www.cortesepenteados.com.br/fotos-de-cortes-masculinos-2.html?PageNo=1
> Acesso em 07/10/2008.
DANIEL-ROPS, Henri. A vida diria nos tempos de Jesus. 3 ed. So Paulo : Vida
Nova, 2008.
DAVIS, John D. Dicionrio da Bblia. 19 ed. Rio de Janeiro : Juerp, 1996.
DEVER, Mark. A mensagem do Antigo Testamento. Rio de Janeiro : CPAD, 2008.
DUNN, James D. G.. A Teologia do Apostolo Paulo. So Paulo : Paulus, 2003.
ESCCIA Scotland. Disponvel em: http://tugas.co.uk/escocia.html > Acesso em
08/10/2008.
ETHOS. Disponvel em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ethos > Acesso em 08/10/2008.
FEE, Gordon D.; STUART, Douglas. Entendes o que ls? um guia para entender a
Bblia com auxlio da exegese e da hermenutica. 2 ed. So Paulo : Vida Nova,
1997.
FERNANDES, Rubem Cesar. Novo Nascimento: os evanglicos em Casa, na Igreja
e na Poltica. Rio de Janeiro : Mauad, 1998.
FRESTON, Paul. Breve histria do pentecostalismo brasileiro. In: ANTONIAZZI,
Alberto (Org). Nem anjos nem demnios: Interpretaes sociolgicas do
pentecostalismo. 2 ed. Petrpolis : Vozes, 1996
GEISLER, Norman; HOWE, Thomas. Manual popular de dvidas, enigmas e
contradies da Bblia. 4 ed. So Paulo : Mundo Cristo, 1999.
49
GOPPELT, Leonhard. Teologia do Novo Testamento. 3 ed. So Paulo : Teolgica,
2002.
GOWER, Ralph. Usos e costumes dos tempos bblicos. Rio de Janeiro : CPAD,
2002.
KAISER JR., Walter; SILVA, Moiss. Introduo Hermenutica Bblica: como ouvir
a Palavra de Deus apesar dos rudos de nossa poca. So Paulo : Cultura Crist,
2002.
LAKATOS Eva M.; MARCONI, Marina A.Sociologia Geral. 7 ed. So Paulo : Atlas,
1999.
MARTINO, Lus Mauro S. Artigo: Religio e senso comum: um dilogo com
Gramsci. Disponvel em: http://www.pucsp.br/nures/revista1/luis.pdf > Acesso em
07/10/2008. Revista Nures (publicao eletrnica PUC-SP) - Ed. Ano 1, N 1,
Setembro-Dezembro 2005.
McGRATH, Alister E.. Teologia Sistemtica, histria e filosfica. So Paulo : Shedd
Publicaes, 2005.
MENDONA, Antnio Gouva; VELASQUES FILHO, Prcoro. Introduo do
Protestantismo no Brasil. So Paulo : Loyola, 1990.
MORRIS, Leon. 1 Corntios: introduo e comentrio. So Paulo :Vida Nova, 1981.
MULHOLLAND, Dewey M. Teologia da Igreja: Uma igreja segundo os propsitos de
Deus. So Paulo : Shedd Publicaes, 2004.
NBREGA, Adriano Rodrigues. Artigo: A centralidade da tica na Administrao
Pblica. Disponvel em:
http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/ouvidoria/ActionServlet?idInformacao=222&obj
eto=br.com.tellus.ouvidoria.negocio.InformacaoUtil&acao=recover > Acesso em
08/10/2008.
OLIVEIRA PINTO, Davi Augusto. Respostas Evanglicas Religiosidade Brasileira.
So Paulo : Vida Nova, 2004.
PFEIFFER, Charles F.; HARRISON, Everett F. Comentrio Bblico Moody. So
Paulo : IBR, 1984, v. 1.
RYRIE, Charles Caldwell. Teologia Bsica. So Paulo : Mundo Cristo, 2004.
RUSCONI, Carlo. Dicionrio do Grego do Novo Testamento. So Paulo : Paulus,
2003.
SELLIN, E.; FOHRER, G. Introduo ao Antigo Testamento. So Paulo : Academia
Crist, 2007.
50
SILVA, Jos Maria da. Proximidades Teolgicas Ps-Modernidade em Hans Kng
e Andrs Torres Queiruga. Disponvel em:
http://www.pucsp.br/rever/rv2_2006/t_silva.htm > Acesso em 07/10/2008.
TEIXEIRA, Faustino (org.). Sociologia da Religio. So Paulo : Vozes, 2007.
TOURNIER, Paul. Culpa e Graa : uma anlise do sentimento de culpa e o ensino
do Evangelho. So Paulo : ABU, 1985.
VINE, W. E.; UNGER, Merril F.; WHITE JR., William. Dicionrio Vine. Rio de Janeiro
: CPAD, 2002.
WEBER, Max. Economia e Sociedade. So Paulo : Imesp, 2004.
VIRKLER, Henry. Hermenutica avanada: princpios e processos de interpretao
bblica. So Paulo : Vida, 1987.
ZUCK, Roy B. A Interpretao Bblica. So Paulo : Vida Nova, 1994.
Você também pode gostar
- Sexo Sem Mácula - Redenção SexualDocumento26 páginasSexo Sem Mácula - Redenção SexualGuilherme100% (21)
- Resumo Do Panorama Do Antigo Testamento de Andrew E. HillDocumento11 páginasResumo Do Panorama Do Antigo Testamento de Andrew E. HillDiogo Henrique de SáAinda não há avaliações
- Fariseus e SaduceusDocumento17 páginasFariseus e Saduceusshoro1Ainda não há avaliações
- Jorge A. Ferreira - A Arte de Interpretar As EscriturasDocumento15 páginasJorge A. Ferreira - A Arte de Interpretar As EscriturasCONGREGACIONAL MARIANA TORRES PASTOR SEBASTIAOAinda não há avaliações
- A Crítica Textual Do Antigo TestamentoDocumento3 páginasA Crítica Textual Do Antigo TestamentovitorGermanoAinda não há avaliações
- Sermão em Tiago 1. 12-15Documento5 páginasSermão em Tiago 1. 12-15fábio_henrique_72100% (2)
- TCC Apologética CristãDocumento147 páginasTCC Apologética CristãDiego H S Andrade100% (4)
- TCC - Pecado Original e Os Pressupostos Da Teologia ReformadaDocumento64 páginasTCC - Pecado Original e Os Pressupostos Da Teologia ReformadaOdirley Rodrigues50% (2)
- Compreendendo A Doutrina E A Cultura Dos AdventistasNo EverandCompreendendo A Doutrina E A Cultura Dos AdventistasAinda não há avaliações
- Hermeneutica Tom-Baker PDFDocumento2 páginasHermeneutica Tom-Baker PDFMarcelo Beltrão da Cunha100% (1)
- Dicionário Teológico de Caludionôr Corrêia de Andrade (CPAD)Documento1 páginaDicionário Teológico de Caludionôr Corrêia de Andrade (CPAD)Ecb Evangelismo0% (2)
- Notas Sobre Simbologia e Tipologia Bíblica - 06 04 17Documento14 páginasNotas Sobre Simbologia e Tipologia Bíblica - 06 04 17wagnerntAinda não há avaliações
- Resumo A Biblia e Sua Historia o Surgimento e o Impacto Da Biblia Varios AutoresDocumento2 páginasResumo A Biblia e Sua Historia o Surgimento e o Impacto Da Biblia Varios AutoresRicardo Sat-MaisAinda não há avaliações
- Exegese Completa para Rafael BastosDocumento36 páginasExegese Completa para Rafael BastosDeivison MagalhãesAinda não há avaliações
- (PDF) TEOLOGIA ELEMENTAR DOUTRINARIA E CONSERVADORA - Israel Holanda - Academia - Edu PDFDocumento391 páginas(PDF) TEOLOGIA ELEMENTAR DOUTRINARIA E CONSERVADORA - Israel Holanda - Academia - Edu PDFMarjorie PfandeyAinda não há avaliações
- 02 - A Necessidade Da HermenêuticaDocumento8 páginas02 - A Necessidade Da Hermenêuticajoao100% (1)
- Projeto Evangelização CgadbDocumento48 páginasProjeto Evangelização CgadbJean PedrosoAinda não há avaliações
- Pecado, Expiação e Salvação como Processo: três doutrinas bíblicas, três temas bíblicos que, postos e estudados em sequência, formatam um Processo muito frequente ao longo da Bíblia - Volume 2No EverandPecado, Expiação e Salvação como Processo: três doutrinas bíblicas, três temas bíblicos que, postos e estudados em sequência, formatam um Processo muito frequente ao longo da Bíblia - Volume 2Ainda não há avaliações
- Mapa - Teol - Teologia Sistemática I - 52-2023Documento1 páginaMapa - Teol - Teologia Sistemática I - 52-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- Lição 1 - Levítico, Adoração e Serviço Ao SenhorDocumento51 páginasLição 1 - Levítico, Adoração e Serviço Ao SenhorErberson Rodrigues Pinheiro100% (1)
- Novo Testamento Slides 2015Documento118 páginasNovo Testamento Slides 2015Sandro PereiraAinda não há avaliações
- Lendo A Biblia para Ensinar Mauro MeisterDocumento30 páginasLendo A Biblia para Ensinar Mauro MeisterRilke Machado100% (1)
- Doutrina Das Sagradas Escrituras (Bibliologia) PDFDocumento69 páginasDoutrina Das Sagradas Escrituras (Bibliologia) PDFvalufeAinda não há avaliações
- Subsídio Da Lição 1 Batalha Espiritual - A Realidade Não Pode Ser Subestimada PDFDocumento11 páginasSubsídio Da Lição 1 Batalha Espiritual - A Realidade Não Pode Ser Subestimada PDFJaqueline BarrosAinda não há avaliações
- Doutrina Do Espírito Santo - Teologia PráticaDocumento73 páginasDoutrina Do Espírito Santo - Teologia PráticaEduardo Salomão100% (1)
- Exposição Novo TestamentoDocumento31 páginasExposição Novo TestamentoWalder RodriguesAinda não há avaliações
- Hermeneutica e Tipol. SlaidesDocumento37 páginasHermeneutica e Tipol. SlaidesLarissa CristinaAinda não há avaliações
- Aula 1 - A Ética Do Sermão Do Monte Lição 1 - EmailDocumento20 páginasAula 1 - A Ética Do Sermão Do Monte Lição 1 - EmailJoão Eduardo100% (2)
- Inicio Da Revista EBD SalmosDocumento14 páginasInicio Da Revista EBD SalmosTiago Nascimento SouzaAinda não há avaliações
- Adoutrinapentecostalassembleiana Perspectivashistricasecontemporneas 120117054850 Phpapp01Documento20 páginasAdoutrinapentecostalassembleiana Perspectivashistricasecontemporneas 120117054850 Phpapp01Paulo César100% (1)
- Escatologia Reformada CalixtoDocumento63 páginasEscatologia Reformada CalixtoAntonio MatosAinda não há avaliações
- Biblia NVI - Ultrajes À Palavra de DeusDocumento55 páginasBiblia NVI - Ultrajes À Palavra de DeusAdriano CaravinaAinda não há avaliações
- A Bíblia INERANTE PALAVRA DE DEUSDocumento11 páginasA Bíblia INERANTE PALAVRA DE DEUSUbiraRose FerreiraAinda não há avaliações
- Introdução Ao Livro de SalmosDocumento7 páginasIntrodução Ao Livro de SalmosAlexandre Miglioranza100% (1)
- Livro de SalmosDocumento4 páginasLivro de SalmosCarlos Cesar100% (1)
- 03-Leitura - Cullmann - 61 - 74Documento8 páginas03-Leitura - Cullmann - 61 - 74REBECCA BARBOSA MARQUES DE SOUZAAinda não há avaliações
- Teologia Do AT - KAISERDocumento118 páginasTeologia Do AT - KAISERKátia LemosAinda não há avaliações
- Caminho para SalvaçãoDocumento91 páginasCaminho para SalvaçãoIede BarreiraAinda não há avaliações
- Eleição Corporativa - William W.Documento6 páginasEleição Corporativa - William W.Leonardo CarvalhoAinda não há avaliações
- Dicionário Enciclopédico de Teologia BAIXAR EBOOK Arnaldo Schüler PDFDocumento1 páginaDicionário Enciclopédico de Teologia BAIXAR EBOOK Arnaldo Schüler PDFAna CristinaAinda não há avaliações
- Romanos 9 9 PDFDocumento24 páginasRomanos 9 9 PDFkolosty appoAinda não há avaliações
- 1corintios 2014 1Documento5 páginas1corintios 2014 1marciozete@hotmail.com100% (1)
- TCC SoteriologiaDocumento15 páginasTCC SoteriologiaIngrid FerreiraAinda não há avaliações
- Comentario ExegeticoDocumento2 páginasComentario ExegeticoAlex PereiraAinda não há avaliações
- 15 - Arqueologia BiblicaDocumento45 páginas15 - Arqueologia Biblicafrancisco santos100% (1)
- Absurdos Da BíbliaDocumento5 páginasAbsurdos Da BíbliaVanderlei Xavier Carmo100% (1)
- Leon MorrisDocumento20 páginasLeon MorrisThiago Bueno100% (1)
- Silas M. - Aconselhamento - Trecho Do LivroDocumento18 páginasSilas M. - Aconselhamento - Trecho Do LivroCissa MarquesAinda não há avaliações
- Introdução Ao Evangelhos PDFDocumento60 páginasIntrodução Ao Evangelhos PDFMarco Barbosa100% (1)
- Aula 2 - o PregadorDocumento31 páginasAula 2 - o PregadorjoaovictorrmcAinda não há avaliações
- Texto Bíblico: o contexto vivenciado pelo autor, sua cosmovisão; a contextualização pelo leitor: a consequente indução à prática de ensinamentos bíblicosNo EverandTexto Bíblico: o contexto vivenciado pelo autor, sua cosmovisão; a contextualização pelo leitor: a consequente indução à prática de ensinamentos bíblicosAinda não há avaliações
- Capítulo 3 - Características Qualitativas Da Informação em DCDocumento54 páginasCapítulo 3 - Características Qualitativas Da Informação em DCLívia MirandaAinda não há avaliações
- Palavra e Vida 4T15 - O Tempo Está Próximo - Apocalípse PDFDocumento61 páginasPalavra e Vida 4T15 - O Tempo Está Próximo - Apocalípse PDFGERSÉ100% (1)
- Capelania Evangelica Monografia Do DR MiltonDocumento51 páginasCapelania Evangelica Monografia Do DR MiltonJubileu Vosi100% (2)
- Edições Novo Testamento GregoDocumento2 páginasEdições Novo Testamento GregoRonaldo RibeiroAinda não há avaliações
- Salmo 37Documento13 páginasSalmo 37José Ildo Swartele de MelloAinda não há avaliações
- PRODUÇÃO - O Mal de FroudeDocumento3 páginasPRODUÇÃO - O Mal de FroudeGuilhermeAinda não há avaliações
- TESE Alvaro Cesar PestanaDocumento598 páginasTESE Alvaro Cesar PestanaGuilherme100% (1)
- Artigo - A Missão No Território Secular AtualDocumento9 páginasArtigo - A Missão No Território Secular AtualGuilhermeAinda não há avaliações
- Sist NumDocumento42 páginasSist NumjulioufjfAinda não há avaliações