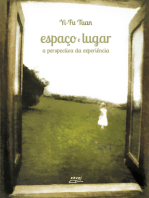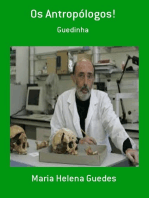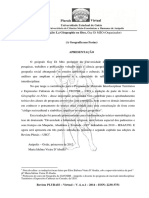Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Lugar - Duas Acepções Geográficas
O Lugar - Duas Acepções Geográficas
Enviado por
Fernando Fantin Vono0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações12 páginasTítulo original
O Lugar- Duas Acepções Geográficas
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações12 páginasO Lugar - Duas Acepções Geográficas
O Lugar - Duas Acepções Geográficas
Enviado por
Fernando Fantin VonoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
9
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
O Lugar: Duas Acepes Geogrficas
1
Adriana Filgueira Leite
Mestranda do PPGG/UFRJ - Laboratrio de Geo-Hidroecologia - UFRJ
1 Introduo
O conceito de lugar tem sido alvo das diversas interpretaes ao longo do tempo
e entre os mais variados campos do conhecimento. Uma das mais antigas definies de
lugar foi apresentada por Aristteles na sua obra intitulada Fsica. Para ele o lugar seria
o limite que circunda o corpo. Alguns sculos adiante, Descartes atravs de sua obra
Princpios Filosficos busca um aprimoramento do conceito introduzido por Aristteles
afirmando que alm de delimitar o corpo, o lugar deveria ser tambm definido em relao
a posio de outros corpos (Ribeiro, 1996). Na Geografia particularmente, a expresso
lugar constitui-se em um dos seus conceitos-chave. Apesar das amplas reflexes j
realizadas a cerca do seu significado, possvel afirmar que este o conceito menos
desenvolvido neste campo do saber. Porm possvel identificar duas acepes
principais, sendo estas consideradas em dois de seus eixos epistemolgicos: o da Geografia
Humanstica e o da Dialtica Marxista. Embora ambas as correntes possuam
fundamentaes filosficas diferenciadas, tm em comum o fato de terem surgido como
reaes ao positivismo ento vigente o qual permite a descrio da natureza a partir de
leis e teorias assim como a dissociao Homem-meio.
2 Lugar e Experincia
No campo da Geografia Humanstica este conceito surge no mbito da sua
consolidao no incio da dcada de 70. Sua linha de pensamento caracteriza-se
principalmente pela valorizao das relaes de afetividade desenvolvidas pelos
indivduos em relao ao seu ambiente. Para tanto houve um apelo s filosofias do
significado fenomenologia, existencialismo, idealismo e hermenutica que em essn-
1
Gostaria de agradecer ao professor e amigo J oo Baptista Ferreira de Mello do Departamento de Geografia
da Universidade do Estado do Rio de J aneiro (UERJ ), no s pelas sugestes bibliogrficas como
principalmente pelo grande apoio prestado.
10
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
cia encontram na subjetividade humana as interpretaes para suas atitudes perante o
mundo (Mello, 1990; Holzer, 1993; Holzer, 1997). Dentre os grandes expoentes afins
a essa acepo destacam-se Edward Relph, Yi-Fu Tuan, Anne Buttimer e J . N. Entrikin.
No Brasil destacam-se os trabalhos de Mello no sentido da compreenso das percepes
do carioca frente ao processo de urbanizao da cidade do Rio de J aneiro (a partir das
msicas do repertrio popular) e de Holzer, porm este mais direcionado a reflexes
terico-metodolgicas dentro desta perspectiva de estudos.
Para os seguidores da corrente humanstica, o lugar principalmente um produto
da experincia humana: (...) lugar significa muito mais que o sentido geogrfico de
localizao. No se refere a objetos e atributos das localizaes, mas tipos de experincia
e envolvimento com o mundo, a necessidade de razes e segurana (Relph, 1979). Ou
ainda, lugar um centro de significados construdo pela experincia (Tuan, 1975).
Trata-se na realidade de referenciais afetivos os quais desenvolvemos ao longo de
nossas vidas a partir da convivncia com o lugar e com o outro. Eles so carregados de
sensaes emotivas principalmente porque nos sentimos seguros e protegidos (Mello,
1990); ele tanto nos transmite boas lembranas quanto a sensao de lar (Tuan, 1975;
Buttimer, 1985a). Nas palavras de Buttimer (1985b, p. 228), lugar o somatrio das
dimenses simblicas, emocionais, culturais, polticas e biolgicas.
No entanto, essa relao de afetividade que os indivduos desenvolvem com o
lugar s ocorre em virtude de estes s se voltarem para ele munidos de interesses pr-
determinados, ou melhor, dotados de uma intencionalidade. Como afirma Relph (1979),
os lugares s adquirem identidade e significado atravs da inteno humana e da relao
existente entre aquelas intenes e os atributos objetivos do lugar, ou seja, o cenrio
fsico e as atividades ali desenvolvidas. Nas palavras de Tuan (1975), o lugar criado
pelos seres humanos para os propsitos humanos. Tuan (1975), afirma ainda que h
uma estreita relao entre experincia e tempo, na medida em que o senso de lugar
raramente adquirido pelo simples ato de passarmos por ele. Para tanto seria necessrio
um longo tempo de contato com o mesmo, onde ento houvesse um profundo
envolvimento. No entanto, seria possvel a um indivduo apaixonar-se a primeira vista
por um lugar tal qual por uma pessoa (Tuan, 1983). Em contraste, uma pessoa pode ter
vivido durante toda a sua vida em determinado local e a sua relao com ele ser
completamente irreal, sem nenhum enraizamento. Um bom exemplo deste tipo de
experincia refere-se a um estudo desenvolvido por Godkin (1985) junto a alcolatras
11
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
em processo de recuperao. Ele cita o caso de Doris, uma mulher que fora acolhida em
um orfanato aos quatro anos de idade por ocasio do internato de sua me em uma
instituio mental. Doris no conseguiu sentir-se parte do orfanato o qual mostrava-se
para ela como um lugar inseguro e ameaador. Em seu relato ela diz: o assoalho era de
madeira dura; enormes habitaes sem mveis, frias, sem intimidade... grandes
dormitrios. Eram habitaes grandes, muito grandes, onde me sentia pequena, s....
Tal relato vai diretamente ao encontro do que afirma Tuan (1975): se leva tempo
conhecer um lugar, a prpria passagem do tempo no garante um senso de lugar. Se a
experincia leva tempo, a prpria passagem do tempo no garante a experincia.
H porm uma crtica no que diz respeito a considerao das variveis tempo e
processo dentro da perspectiva humanstica. De acordo com Cosgrove (1978), elas so
praticamente ausentes nesta abordagem, principalmente nas obras de Relph e Tuan.
Para ele, tal dificuldade seria uma resultante direta de uma inabilidade implcita no
prprio mtodo analtico empregado pela Geografia Humanstica em explicar os fen-
menos do lugar e da paisagem da mesma forma como esta se refere conscincia
humana. Cosgrove afirma que se por um lado o mtodo fenomenolgico fornece consi-
derveis contribuies a respeito dos significados que os lugares e as paisagens tm para
ns, particularmente como indivduos, por outro, ao aplicar-se a uma experincia cole-
tiva, suas suposies so demasiado idealistas e at ingnuas. Ao abstrair mentes,
almas, espritos, idias e intenes de modo a represent-los como entidades
independentes, recai-se sobre as interpretaes filosficas tradicionais utilizadas pelo
positivismo, de carter determinstico. Embora admita-se uma relao dialtica entre a
mente e o mundo, a nfase do mtodo acaba privilegiando as abstraes da mente. Para
Cosgrove, esta abstrao seria, no entanto, falsa pois nem estaria de acordo com nossa
experincia no mundo, e nem nos permitira a possibilidade de entender a razo para
coisas, pois nossas atitudes e intenes, so tambm influenciadas por outros fatores
tais como as relaes de produo.
A experincia do lugar manifestaria-se tambm em diferentes escalas. Nas
palavras de Buttimer (1985b, p. 178), cada pessoa est rodeada por camadas concn-
tricas de espao vivido, da sala para o lar, para a vizinhana, cidade, regio e para a
nao. Na realidade, tais entidades so todos lugares experienciados diretamente. O lar
onde a vida comea e termina; o principal referencial de existncia da espcie humana
na medida em que este a forma concreta do abrigo, da proteo contra as intempries
12
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
e outros perigos potenciais. O lar o piv de uma rotina diria. Vamos a todos os tipos
de lugares (escola, trabalho, igreja, discoteca, etc.) mas sempre retornamos ao lar, ou
lugares semelhantes (abrigos, acampamentos, hotis, etc.). Na percepo de Tuan
(1975), o que a lareira, a loja de doces na esquina, a cidade, e o Estado-Nao tm em
comum? Eles so todos centros de significado para os indivduos e grupos. A cidade
e a nao embora no sejam conhecidos integralmente por cada um dos indivduos, so
ambos smbolos da fraternidade Homem-lugar os quais constituiram-se na realidade,
em um nico ser. Segundo Frmont (1980, p. 205), a maioria das naes conta com um
forte sentimento de unidade interna o qual seria propiciado principalmente pela comu-
nho do idioma e da cultura (poderamos incluir em alguns casos a religio, a exemplo
dos pases mulumanos). Deste modo, os homens no viveriam sobre ou na nao.
Os jogos esportivos, assim como os avanos tecnolgicos, dentre outros eventos de
mesmo carter so sempre ocasies em que este sentimento patritico ou em menor
escala, de bairrismo afloram (Mello, 1990). Para Pocock (1981, p. 337), o que h na
realidade, uma relao simbitica entre homem e meio ambiente. Neste sentido,
lugares devem ser considerados como pessoas e as pessoas como lugares.
Os lugares normalmente no so dotados de limites reconhecveis no mundo
concreto. Isto ocorre porque sendo uma construo subjetiva e ao mesmo tempo to
incorporada as prticas do cotidiano que as prprias pessoas envolvidas com o lugar
no o percebem como tal. Este senso de valor s manifesta-se na conscincia quando h
uma ameaa ao lugar, como a demolio de um monumento considerado importante, ou
quando h uma reivindicao comum como a visita peridica de um carro do fumac.
Assim, ao contrrio das regies delimitadas para fins de planejamento, plenamente
reconhecveis em mapas e cartas topogrficas, atravs de smbolos e toponmias, a
maioria dos lugares no so nomeados. Dar nome a um lugar dar seu explcito reconhe-
cimento, isto , reconhec-lo conscientemente ao nvel da verbalizao (Tuan, 1975),
fato este que no ocorre na realidade. Dentro desta perspectiva, Bachelard (1978)
afirma que a semente que faz a ma, e ainda assim a miniatura da semente maior do
que a grandeza da ma. Ou seja, apesar da intensidade das experincias vividas nvel
do pas, da cidade, do bairro, ou da rua, se fossem representados cartograficamente, tais
lugares seriam menores que sementes, mas ainda assim germinariam afeio.
No entanto, tais relaes de identidade no mapeveis, nem sempre so
respeitadas ao nvel dos interesses governamentais. Buttimer (1985a, p. 230) cita o
13
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
caso de Glasgow, um dos bairros de Londres submetido aos programas de reforma
urbana do Reino Unido aps a 2
a
Guerra Mundial. As escavadoras respeitaram apenas
os limites invisveis ou lugares sagrados; hoje, vrios anos depois, tabernas e igrejas
permanecem como mesas em uma paisagem arrasada, ilhadas de sua clientela cujas casas
antigamente as rodeavam. No Brasil essas prticas no so raras e desde o incio do
sculo vm tornando-se at bastante comuns. Um exemplo clssico foi o processo de
destruio da Praa XI, conhecida como o bero do samba e da boemia da cidade do Rio
de J aneiro at meados da dcada de 40. Este lugar era um importante referencial tanto
para a comunidade quanto para artistas e malandros, principalmente durante o Carnaval.
Com a abertura da Avenida Presidente Vargas ocorrida entre 1941 e 1944, a Praa XI foi
parcialmente destruda, perdendo completamente o seu carter cultural. A paisagem do
bairro foi alterada substancialmente, empurrando seus moradores para outras localidades
(Lima, 1995, p. 53).
No entender de Buttimer (1985a, p. 231), tais procedimentos resultariam de
uma dificuldade do observador (planejador) em identificar as relaes histricas embu-
tidas nas formas. Para ela, a linguagem utilizada para descrever as perspectivas dos
residentes sobre o lugar ainda, de modo geral, a linguagem de um mundo Newtoniano
gente, atividades e coisas contidas no lugar enquanto que a linguagem utilizada para
planificar os horizontes econmicos e tecnolgicos do lugar est profundamente in-
fluenciada pelas concepes Einsteinianas do espao topolgicos, do tempo e do processo.
Considerando os diferentes graus de compreenso da realidade apresentados
pelos indivduos, Relph (1976) desenvolveu duas classes de percepo dialtica Homem-
meio: insider (tica do habitante do lugar) e outsider (tica de um habitante externo ao
lugar). Em cada uma dessas classes haveriam nveis intermedirios de percepo, variando
entre o mais enraizado e o mais desenraizado.
Uma outra caracterizao das relaes Homem-meio foi realizada por Mello
(1990), baseada principalmente nas obras de Tuan (Espao e Lugar, 1983) e de Relph
(Place and Placelessness, 1976). Assim, ele identifica trs principais categorias; o
lugar, conforme j discutido, recortado afetivamente, e emerge da experincia sendo
assim um mundo ordenado e com significado (Tuan, 1983, p. 65). O lugar fechado,
ntimo e humanizado (Tuan, 1983, p. 61); j o espao seria qualquer poro da superfcie
terrestre, ampla, desconhecida, temida ou rejeitada e provocaria a sensao de medo,
14
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
sendo totalmente desprovido de valores e de qualquer ligao afetiva. Neste contexto,
o lugar est contido no espao. No entanto, as experincias nos locais de habitao,
trabalho, divertimento, estudo e dos fluxos transformariam os espaos em lugares. O
ltimo conceito seria o de deslugar (placelessness), um neologismo criado por Relph
para designar as formas estandartizadas, repetidas e com uniformidade de seqncia,
como os conjuntos habitacionais e algumas lanchonetes fast food distribudas ao longo
das estradas. Este conceito tem sido alvo de muitas discusses no mbito da Geografia
Humanstica, pois questiona-se se as pessoas que o experienciam realmente consideram-
no montono e artificial. Neste sentido, Relph tambm introduz uma discusso a
respeito de atitudes autnticas e inautnticas em relao ao lugar. As atitudes autnticas
seriam aquelas em que o indivduo teria plena conscincia do teor ideolgico embutido
naquelas formas. Por outro lado, uma atitude inautntica caracterizaria uma viso
alienada do lugar e a relao Homem-mundo vivido no seria plena. Exemplos dessa
experincia seriam as relaes mantidas entre os indivduos e as formas universalizadas
dos shopping-centers e das lanchonetes McDonnald`s (conhecidas no mundo inteiro),
assim como os locais com o estilo da Disneylndia (que simula uma perpetuao da
infncia) ou do complexo turstico de Cancun, cujas mercadorias nada tm a ver com a
cultura local. Eyles (1989, p. 109), no entanto, faz uma crtica a essa percepo que
sugere que as tendncias homogeneizantes do mundo moderno resultam para a grande
massa das pessoas, em uma atitude inautntica em relao ao lugar e num estado de
deslugar. Para ele, h um profundo descrdito no que se refere a capacidade que as
pessoas tm em criar identidade com os lugares apesar de serem subrbios (ou formas
homogeneizadas). Ao mesmo tempo, nem sempre o motivo que leva algum a residir
em tais lugares so dependentes da sua vontade. As condies materiais so na maioria
das vezes os principais determinantes.
Mello (1990) refere-se ainda existncia de lugares mticos e concebidos. Os
primeiros seriam aqueles lugares que apesar de nunca terem sido experienciados
concretamente assumem para ns a imagem do paraso, alimentando os nossos mais
profundos desejos em manter com ele um contato direto (a exemplo da atrao exercida
por lugares como o Caribe e a cidade de Veneza sobre cidados do mundo inteiro). J os
lugares concebidos, apesar de tambm no serem experienciados fisicamente, seriam
locais mais prximos, com os quais entraramos em contato via mecanismos de imprensa
ou por relatos de indivduos j conhecedores dos mesmos.
15
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
3 Lugar e Singularidade
A outra acepo de lugar diz respeito a sua compreenso enquanto expresso
geogrfica da singularidade, descentrada, universalista, objetiva, associada ao positivismo
ou ao Marxismo. Trata-se na realidade de uma viso na qual o lugar considerado tanto
como produto de uma dinmica que nica, ou seja, resultante de caractersticas histricas
e culturais intrnsecas ao seu processo de formao, quanto como uma expresso da
globalidade. Neste sentido, o lugar se apresentaria como o ponto de articulao entre
a mundialidade em constituio e o local, enquanto especificidade concreta e enquanto
momento (Carlos, 1996, p. 16).
A origem desta percepo encontra-se intimamente relacionada ao processo
de expanso do modo capitalista de produo que atravs de uma ampla rede de fluxos
(de transportes, de informao e de mercadorias), conseguiu incorporar progressiva-
mente todos os pontos da superfcie do planeta, inclusive aqueles considerados como
os mais remotos. A descoberta de novos territrios a partir das grandes navegaes
propiciou a ampliao dos conhecimentos a respeito do globo, indicando simultanea-
mente que este era finito e potencialmente apreensvel. De acordo com Harvey (1992,
p. 221) a acumulao de riqueza, de poder e de capital passou a ter um vnculo com o
conhecimento personalizado do espao e o domnio individual dele. Do mesmo modo,
todos os lugares ficaram vulnerveis a influncia direta do mundo mais amplo graas ao
comrcio, competio intraterritorial, a ao militar, ao influxo de novas mercadorias,
ao ouro e a prata etc. Ele acrescenta ainda que em virtude do desenvolvimento
gradativo dos processos que lhe davam forma, a revoluo das concepes de espao e
de tempo se manifestou lentamente. Na medida em que a dimenso espao foi se
tornando cada vez mais finita, a dimenso tempo foi aos poucos sendo reduzida. Este
foi um reflexo direto do aprimoramento das tcnicas (aumento da produo em um
tempo menor) e das redes de transporte e comunicao.
Como este processo completou-se apenas neste sculo, com nveis de
universalidade e desenvolvimento nunca antes imaginados, somente agora tornou-se
possvel teorizar-se a respeito de categorias que fossem igualmente universalizantes e
de aplicao geral, como (dentro desta percepo) o conceito de lugar (Santos, 1988,
p. 32). Na medida em que as contradies internas constituem-se na principal razo de
existncia do Capitalismo, o lugar, segundo este ponto de vista, seria tambm um reflexo
16
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
desta ambigidade, e logo das dualidades centro/periferia, geral/pontual ,
globalizao(homogeneizao)/fragmentao.
O processo de homogeneizao/fragmentao tem suas bases fundamentadas
na Europa de finais do sculo XVIII, mais precisamente na Frana ps-Revoluo. A
necessidade de um novo modelo de gesto do territrio que fosse eficiente em propiciar
o bem-estar social e este, por sua vez, dentro dos princpios da igualdade, encontrou na
homogeneizao do espao o nico meio de exercer sobre ele o controle, e logo de
alcanar tais objetivos (Harvey, 1992, p. 231). Houve neste momento um grande
desenvolvimento da cartografia matemtica que contrariamente s prticas comuns
Idade Mdia, passou a projetar nos mapas um espao abstrato, homogneo e universal
em suas qualidades, propiciando assim um quadro de pensamento e de ao estvel e
apreensvel (Harvey, 1992, p. 221). Esta concepo da realidade encontrou vrios
adeptos entre arquitetos, engenheiros, administradores e proprietrios de terra. Na
iminncia da ecloso de outras concepes do espao e do tempo ento coexistentes
(sagradas, profanas, simblicas, pessoais, etc), sentiu-se a necessidade de alguma medi-
da que consolidasse o uso do espao dentro dos moldes desejados (homogneo, abstrato
e universal); o meio encontrado para tal foi a instituio da propriedade privada da terra
e da compra e venda do espao como mercadoria, em outras palavras, a fragmentao
(Harvey, 1992, p. 221).
De fato, como afirma Lefebvre (1974, apud Harvey, 1992), uma das formas de
alcanar-se a homogeneizao do espao, justamente atravs de sua fragmentao em
parcelas livremente alienveis de propriedade privada que podem ser compradas e
comercializadas vontade no mercado. Na realidade, o que houve de fato foi o
deslocamento de uma funo que antes restringia-se aos mecanismos estatais e logo, aos
limites do Estado-Nao. A partir de ento o uso da terra passa a ser gerido pelo
mercado, o qual conforme j discutido, tornou-se ao longo dos anos, cada vez mais
global. Assim que o processo de homogeneizao (globalizao) pressupunha
simultaneamente o da fragmentao.
Com o passar do tempo essa estrutura complexizou-se. O mercado internacional
passou a ser a mola mestra das economias nacionais. Havendo simultaneamente, um
aumento progressivo da especializao das funes exercidas por cada rea. Os pases
que haviam dado origem ao capitalismo tornaram-se as grandes potncias mundiais
17
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
passando a determinar atravs de suas empresas (grandes coorporaes), a diviso
internacional do trabalho. Enquanto estas contituram-se nas reas centrais (centro do
poder poltico e econmico), as reas recm descobertas ento colnias, assumiram a
posio de periferia. Sua principal funo era a de fornecer matrias-primas e consumir
os produtos industrializados. Assim, a ordem mundial caracterstica a este momento
constava j de uma estrutura dual (centro-periferia) onde os pases centrais (metrpoles)
alm de assumirem a funo de organizadores, transformavam as matrias-primas que
eram produzidas pelas economias agrrio-exportadoras (colnias).
Ao mesmo tempo em que h uma estrutura global onde cada um possui uma
funo determinada, caractersticas locais tambm passam a ser incorporadas e
reestruturadas em funo de um contexto maior e homogeneizante o mercado
internacional. Um claro exemplo desta prtica foi a apropriao da encomienda na
colnia espanhola do Mxico. A encomienda era um tributo pago pelos camponeses do
ento Imprio Asteca ao seu rei, e constava da doao mensal de toda a colheita agrcola
referente a um dia inteiro de trabalho. Quando os espanhis tornaram-se os colonizadores,
tanto destruram o Imprio como escravizaram seus descendentes, tornando a
encomienda um tributo obrigatrio e dirio. Em uma fase posterior, este tambm o
caso da apropriao de relaes de trabalho pr-capitalistas (arrendamento, parceria),
introduzidas no Brasil no perodo colonial e ainda vigentes. Esta prtica constitui-se
atualmente em uma grande fonte de lucros para os donos do grande capital (no caso,
redes de supermercados e empresas da indstria alimentcia) na medida em que obtm
os produtos agrcolas a baixssimos preos sem praticamente nenhuma despesa com a
produo.
dentro deste contexto que o lugar surge tanto como uma expresso do processo
de homogeneizao do espao imposta pela dinmica econmica global, quanto uma
expresso da singularidade, na medida em que cada lugar exerce uma funo imposta
pela diviso internacional do trabalho. Nas palavras de Carlos (1996, p. 17) a realidade
do mundo moderno reproduz-se em diferentes nveis, no lugar encontramos as mesmas
determinaes da totalidade sem com isso eliminar-se as particularidades, pois cada
sociedade produz seu espao, determina os ritmos da vida, os modos de apropriao
expressando sua funo social, seus projetos e desejos. O lugar surge como produto de
uma ambigidade que se estende a todas as relaes sociais que envolvem o homem e o
meio o singular (o fragmento) e tambm o global (universal) que o determinam.
18
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
Para Milton Santos (1988, p. 34) quanto mais os lugares se mundializam, mais se
tornam singulares e especficos, isto , nicos. Esta seria uma resultante direta da
especializao desenfreada dos elementos do espao homens, firmas, instituies,
meio ambiente, assim como da dissociao sempre crescente dos processos e
subprocessos necessrios a uma maior acumulao de capital, da multiplicao das aes
que fazem do espao um campo de foras multidirecionais e multicomplexas (...).
Carlos (1996, p. 20) acrescenta ainda uma dimenso histrica na concepo do
lugar. Esta diz respeito a prtica cotidiana, ou seja, s concepes que surgem do plano
do vivido, e neste sentido bastante similar a percepo humanstica. Para ela, pensar
o lugar significa pensar a histria particular (de cada lugar), se desenvolvendo, ou
melhor, se realizando em funo de uma cultura/tradio/lngua/hbitos que lhe so
prprios, construdos ao longo da histria e o que vem de fora, isto , que se vai
construindo e se impondo como conseqncia do processo de constituio do mundial.
Apesar das peculiaridades inerentes a cada lugar, estes encontram-se profunda-
mente interligados. De acordo com Santos (1988, p. 34), ao mesmo tempo em que a
singularidade garante configuraes nicas, os lugares esto em interao, graas a atu-
ao das foras motrizes do modo de acumulao hegemonicamente universal (o capita-
lismo). Para ele, o que se verifica na atualidade o que preescreve a Lei da Interconexo
Universal proposta por Marquit (1981). De acordo com esta lei todas as coisas esto
ligadas s demais por uma infinidade de conexes. De fato esta uma realidade do
mundo moderno, onde uma intensa rede de fluxos (de mercadorias, informaes, etc.)
marca a conexo entre lugares. Tais redes caracterizam-se por apresentar uma estrutura
extremamente complexa, organizada de acordo com a especialidade de funes e segun-
do uma hierarquia de atividades (Corra, 1997, p. 108). Esta complexidade est tambm
na essncia das relaes centro-periferia, na medida em que um dos mecanismos pelos
quais tais relaes so perpetuadas e as diferenas aprofundadas. As cidades globais
(sedes das grandes corporaes) na qualidade de epicentros de numerosas dessas redes,
tm promovido a organizao do espao de modo a torn-lo cada vez mais fragmentado
e globalizado (Corra, 1997, p. 108), o que pressupe o acirramento das diferenas
entre dominadores e dominados. Para Carlos (1996, p. 33), o lugar pode ser definido a
partir desses entrelaamentos impostos pela diviso espacial do trabalho posto que
articulado e determinado pela totalidade espacial.
19
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
A intensa especializao das funes, aliada ao aprimoramento tecnolgico tem
causado srios impactos ao nvel do lugar, principalmente no que diz respeito liberao
de enormes contingentes de mo-de-obra. Num mbito mundial pode-se dizer que este
um reflexo tanto da globalizao quanto da fragmentao. Trata-se de um fenmeno
extremamente dinmico e na maioria das vezes o operrio no consegue acompanhar
esse ritmo visto que exige do trabalhador um nvel de qualificao cada vez mais elevado
e num curto espao de tempo. A repercusso global o desemprego em massa e o
trabalho temporrio via contratao (prestao de servios) em empresas especializadas.
A nvel local, cada lugar vai reagir de uma maneira prpria, a partir de condies
pr-existentes. Pode-se dizer tambm, neste sentido, que o lugar com suas caractersticas
locais e globais, um reflexo da compresso espao-tempo se de um lado as redes de
fluxos diminuem as distncias espaciais, por outro, a velocidade em que se processam
tais fluxos tende a quase extingir a dimenso tempo. Para Harvey (1992, p. 190) o
progresso implica a conquista do espao, a derrubada de todas as barreiras espaciais e a
aniquilao ltima do espao atravs do tempo. Essa aniquilao, no entanto,
contraditria na medida em que o espao s pode ser conquistado por meio da produo
do espao (Harvey, 1992, p. 234). Isso porque o espao tanto o palco onde
desenvolvem-se as relaes sociais, quanto o local de assentamento dos meios de vida,
transportes e comunicao. Assim, torna-se necessria no apenas a produo de um
espao especfico, fixo e imvel para promover a aniquilao do espao por intermdio
do tempo, como tambm investimento de longo prazo, de retorno lento (fbricas
automatizadas, robs, etc.), para acelerar o tempo de giro da massa de capitais (Harvey,
1992, p. 234). Esta dinmica ganha expressividade no espao atravs dos processos de
destruio criativa. Tais processos, aliados aos constantes efeitos das redes de fluxos
e logo da compresso espao-tempo, trazem para o lugar um efeito que o define enquanto
expresso da singularidade: a sua constante reestruturao como uma resultante das
constantes transformaes histricas. Por fim, isso se refletiria nas palavras proferidas
por Santos (1988, p. 35) j no se pode falar de contradio entre uniqueness e
globalidade. Ambos se completam e se explicam mutuamente. O lugar um ponto do
mundo onde se realizam algumas das possibilidades deste ltimo. O lugar parte do
mundo e desempenha um papel em sua histria (...).
20
Anurio do Instituto de Geocincias - UFRJ Volume 21 / 1998
4 Referncias
BACHELARD, G. 1978. A Potica do Espao. In: OS PENSADORES, So Paulo,
Abril Cultural, p. 181-354.
BUTTIMER, A 1985a. Aprendendo o dinamismo do mundo vivido. In:
PERSPECTIVAS DA GEOGRAFIA. Antnio Carlos Christofoletti (org.).
So Paulo, Difel, p. 165-193.
BUTTIMER, A. 1985b. Hogar, Campo de Movimiento y sentido del Lugar. In:
TEORIA Y MTODO EN LA GEOGRAFIA ANGLOSAJ ONA. Maria
Dolores Garcia Ramn (org.), Barcelona, Ariel, p. 227-241.
CARLOS, A F. A 1996. O Lugar no/do Mundo. So Paulo. Hucitec. 150 p.
CORRA, R. L. 1997. Dimenses de anlise das redes geogrficas. In:
TRAJ ETRIAS GEOGRFICAS. Roberto Lobato Corra. Rio de J aneiro.
Bertrand Brasil, p. 107-118.
COSGROVE, D. E. 1978. Place, Landscape, and the Dialectics of cultural Geogra-
phy. Canadian Geographer, 22 (1): 1978.
EYLES, J . 1989. The Geography of everyday life. In: HORIZONS IN HUMAN
GEOGRAPHY, Derek Gregory and Rex Walford (eds.), Houndmills,
Macmillan Education, p. 102-117.
FRMONT, A 1980. A regio, Espao Vivido. Coimbra, Almadina, 275p.
GODKIN, M. A. 1985. Identidad y Lugar: Aplicaciones Clnicas Basadas en los
Naciones de Arraigo y Desarrolo. In: TEORAY METODO EN LA
GEOGRAFIA HUMANA ANGLOSAJ ONA, Mara Dolores Garca
Ramn (org.), Barcelona, Ariel, p. 242-253.
HARVEY, D. 1992. Condio Ps-Moderna. So Paulo. Loyola. 349p.
HOLZER, W. 1993. A Geografia Humanista anglo-saxnica de suas origens aos
anos 90. R. Bras. Geog., 55 (1/4): 109-146.
HOLZER, W. 1997. A Geografia Humanista: uma reviso. Espao e Cultura, 3: 8-19.
LIMA, E. F. W. 1995. Avenida Presidente Vargas: uma drstica cirurgia. Biblioteca
Carioca. Rio de J aneiro. Secretaria Municipal de Cultura. 143p.
MELLO, J . B. F. 1990. Geografia Humanstica: a perspectiva da experincia vivida e
uma crtica radical ao positivismo. R. Bras. Geog., 52 (4): 91-115.
POCOCK, D. C. D. 1981. Place and the Novelist. Transactions of the British
Geographers, New Series 6, p. 337-347.
RELPH, E. C. 1976. Place and Placelessness. London. Pion. 156p.
RELPH, E. C. 1979. As Bases Fenomenolgicas da Geografia. Geografia, 4 (7): 1-25.
RIBEIRO, W. C. 1993. Do Lugar ao Mundo ou o Mundo no Lugar? Terra Livre
AGB, 11-12: 237-242.
SANTOS, M. 1988. Metamorfose do Espao Habitado. So Paulo. Hucitec.124p.
TUAN, Yi-Fu. 1975. Place: an experiential perspective. Geographical Review, 65
(2): 151-165.
TUAN, Yi-Fu. 1983. Espao e Lugar. So Paulo.Difel..250p.
Você também pode gostar
- Topofilia: Um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambienteNo EverandTopofilia: Um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambienteNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Psicoterapia BreveDocumento52 páginasPsicoterapia BreveMarquinho Vidal100% (2)
- Terapias Pos ModernasDocumento63 páginasTerapias Pos Modernasfausta maria lima costa100% (1)
- MANIERI, Dagmar Fenomenologia e Hermeneutica Historica PDFDocumento192 páginasMANIERI, Dagmar Fenomenologia e Hermeneutica Historica PDFmendes_breno2535Ainda não há avaliações
- Topofilia PDFDocumento4 páginasTopofilia PDFCarolina Venturini0% (1)
- Resumo de Fenomenologia Existencial IDocumento2 páginasResumo de Fenomenologia Existencial IJuan MoshAinda não há avaliações
- Geografia Da PercepçãoDocumento5 páginasGeografia Da PercepçãoGabriel Nery Machado100% (1)
- Acp Estudo de CasoDocumento54 páginasAcp Estudo de CasoLuciana BastosAinda não há avaliações
- SOBRE-EXCITABILIDADES NAS AH - SD - Patricia NeumannDocumento20 páginasSOBRE-EXCITABILIDADES NAS AH - SD - Patricia NeumannCristiane ThomazAinda não há avaliações
- Geografia Humanista - Yi Fu TuanDocumento6 páginasGeografia Humanista - Yi Fu TuanVanessa0% (1)
- Critica Razão Dialética 2 PDFDocumento11 páginasCritica Razão Dialética 2 PDFAnonymous srkJwyrg0% (1)
- MANNHEIM Karl - Sociologia Do Conhecimento PDFDocumento10 páginasMANNHEIM Karl - Sociologia Do Conhecimento PDFNaido UbisseAinda não há avaliações
- Aline Medeiros - Ação e Compreensão Na Clínica Fenomenológica ExistencialDocumento5 páginasAline Medeiros - Ação e Compreensão Na Clínica Fenomenológica ExistencialAline MedeirosAinda não há avaliações
- Terapia Hipnose Fundação EricksonianaDocumento114 páginasTerapia Hipnose Fundação EricksonianaLeana SequeiraAinda não há avaliações
- O Lugar Na Geografia Humanista - Werther HolzerDocumento12 páginasO Lugar Na Geografia Humanista - Werther HolzerFabio AlmeidaAinda não há avaliações
- A Noção de Ser No MundoDocumento12 páginasA Noção de Ser No MundoDenis de FreitasAinda não há avaliações
- Conceito Arquitetonico de Espaço e Lugar - Vitruvius - Arquitextos 087Documento11 páginasConceito Arquitetonico de Espaço e Lugar - Vitruvius - Arquitextos 087unespgAinda não há avaliações
- Geografia y Fenomenologia (Clelio - Santos)Documento12 páginasGeografia y Fenomenologia (Clelio - Santos)luisvi2010Ainda não há avaliações
- 1-Espaço - Um Conceito Chave Da Geografia - 033Documento33 páginas1-Espaço - Um Conceito Chave Da Geografia - 033Efraim de Souza MoraesAinda não há avaliações
- O Conceito de Lugar Nos Estudos de ComunicaçãoDocumento10 páginasO Conceito de Lugar Nos Estudos de ComunicaçãoMarcos CurvelloAinda não há avaliações
- HAESBAERT, Rogerio - Cap 2 - Definindo Territorio para Entender A Desterritorialização PDFDocumento39 páginasHAESBAERT, Rogerio - Cap 2 - Definindo Territorio para Entender A Desterritorialização PDFAssenav Sednocram80% (10)
- OMitodaDesterritorializacao RogerioHaesbertDocumento34 páginasOMitodaDesterritorializacao RogerioHaesbertBrunnamartelli0% (1)
- Topofilia PDFDocumento4 páginasTopofilia PDFTaty BorgesAinda não há avaliações
- Sobre TopofiliaDocumento4 páginasSobre TopofiliaPaula BessaAinda não há avaliações
- O Conceito de LugarDocumento12 páginasO Conceito de LugarSioneide BrandãoAinda não há avaliações
- 03 - 6 - Holzer With Cover Page v2Documento10 páginas03 - 6 - Holzer With Cover Page v2Robson AlmeidaAinda não há avaliações
- Conceitos - Espaço, Lugar e Território PDFDocumento3 páginasConceitos - Espaço, Lugar e Território PDFFrancisco GimenesAinda não há avaliações
- Geografia Humanística A Abordagem Humanística em Geografia Tem Como Base Os Trabalhos Realizados Por YiDocumento3 páginasGeografia Humanística A Abordagem Humanística em Geografia Tem Como Base Os Trabalhos Realizados Por YiNAYANE DE JESUS CARNEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Uma Discussao Fenomenologica Sobre Os Conceitos de Paisagem e Lugar Territorio e Meio AmbienteDocumento9 páginasUma Discussao Fenomenologica Sobre Os Conceitos de Paisagem e Lugar Territorio e Meio AmbienteRaquel FetterAinda não há avaliações
- 3489 13358 1 PBDocumento7 páginas3489 13358 1 PBTULIO CARDOSO RAMOSAinda não há avaliações
- MELLO. A Humanística Perspectiva Do Espaço e Do LugarDocumento8 páginasMELLO. A Humanística Perspectiva Do Espaço e Do Lugarjesica beltranAinda não há avaliações
- HOLZER. O Lugar Na Geografia HumanistaDocumento12 páginasHOLZER. O Lugar Na Geografia Humanistajesica beltranAinda não há avaliações
- Terra Dos Homens: A GeografiaDocumento6 páginasTerra Dos Homens: A GeografiaMarco ZopelarAinda não há avaliações
- A Evolução Do Conceito de Espaço Geográfico.Documento9 páginasA Evolução Do Conceito de Espaço Geográfico.IldesCardoso100% (1)
- O Lazer Numa Perspectiva Multidisciplinar - As Contribuições Do Pensamento GeograficoDocumento7 páginasO Lazer Numa Perspectiva Multidisciplinar - As Contribuições Do Pensamento GeograficoCarlos AraújoAinda não há avaliações
- Apresentação EIXO 7 28 NovDocumento22 páginasApresentação EIXO 7 28 Nov2010odontologia7949Ainda não há avaliações
- Conceitos - Espaço, Lugar e TerritórioDocumento3 páginasConceitos - Espaço, Lugar e TerritórioElena CastoreAinda não há avaliações
- (1 Bim) Geografia (Material e Avaliação)Documento26 páginas(1 Bim) Geografia (Material e Avaliação)AfroditeAinda não há avaliações
- Contribuição Fenomenologia A Geografia CulturalDocumento13 páginasContribuição Fenomenologia A Geografia CulturalLaerte Moreira Dos SantosAinda não há avaliações
- Slide Importante Sobre o Pensamento de Milton SantosDocumento30 páginasSlide Importante Sobre o Pensamento de Milton SantosEverton MeloAinda não há avaliações
- Eduardo Marandola JRDocumento9 páginasEduardo Marandola JRFernanda DanielleAinda não há avaliações
- Sobre A Tipologia de Espaços Fúnebres Cemiteriais - Felipe Fuchs PDFDocumento15 páginasSobre A Tipologia de Espaços Fúnebres Cemiteriais - Felipe Fuchs PDFKethelen de SouzaAinda não há avaliações
- Um Estudo Fenomenológico Da Paisagem e Do Lugar A Crônica Dos Viajantes No Brasil Do Século XVI p24-61Documento39 páginasUm Estudo Fenomenológico Da Paisagem e Do Lugar A Crônica Dos Viajantes No Brasil Do Século XVI p24-61UILLIAN SANTOSAinda não há avaliações
- A Geografia Cultural e A Geografia HumanísticaDocumento4 páginasA Geografia Cultural e A Geografia HumanísticaT_NayaraAinda não há avaliações
- Fenomenologia Semiótica e Geografia Da PercepçãoDocumento13 páginasFenomenologia Semiótica e Geografia Da PercepçãoOctávio Schwenck AmorelliAinda não há avaliações
- 1506-Texto Do Artigo-5368-1-10-20130806Documento10 páginas1506-Texto Do Artigo-5368-1-10-20130806Francisca Carolina Lima da SilvaAinda não há avaliações
- Sobre Territórios e LugaridadesDocumento12 páginasSobre Territórios e LugaridadesSérgio Pereira de Souza Jr.Ainda não há avaliações
- Compreensao Textos CientificosDocumento7 páginasCompreensao Textos CientificosRaldo Mutano XavierAinda não há avaliações
- Festas - La Geographie en Fetes - DimeoDocumento26 páginasFestas - La Geographie en Fetes - DimeoMarcos Roberto Pereira MouraAinda não há avaliações
- Corpos Na Antropologia Cap 9 PDFDocumento34 páginasCorpos Na Antropologia Cap 9 PDFCarolina HortaAinda não há avaliações
- Território, Identidade e MemóriaDocumento10 páginasTerritório, Identidade e MemóriaPaula AranhaAinda não há avaliações
- Org. Do Espaço - Resumo ExpandidoDocumento4 páginasOrg. Do Espaço - Resumo ExpandidoYasmim RodriguesAinda não há avaliações
- A Contribuição Da Fenomenologia Nos Processos Intervenção UrbanaDocumento4 páginasA Contribuição Da Fenomenologia Nos Processos Intervenção UrbanaLaerte Moreira Dos SantosAinda não há avaliações
- O Sentido de Lugar Livia de OliveiraDocumento9 páginasO Sentido de Lugar Livia de OliveiraRoberta PereiraAinda não há avaliações
- Aula GeografiaDocumento26 páginasAula GeografiaCamila AmorimAinda não há avaliações
- Geografia Humanistica e o Conceito de Lugar-with-cover-page-V2Documento13 páginasGeografia Humanistica e o Conceito de Lugar-with-cover-page-V2Luara NogueiraAinda não há avaliações
- Poetica Da Terceira Pele PDFDocumento10 páginasPoetica Da Terceira Pele PDFfelipe_munhoz_1Ainda não há avaliações
- FICHAMENTO DO 1o CAPITULO DO LIVRO GEOGRDocumento7 páginasFICHAMENTO DO 1o CAPITULO DO LIVRO GEOGRAdriano R P SAinda não há avaliações
- HEIDRICH - A Abordagem Territorial e A Noção de RepresentaçãoDocumento11 páginasHEIDRICH - A Abordagem Territorial e A Noção de RepresentaçãoÁlvaroLuizHeidrichAinda não há avaliações
- AS NOVAS ESCALAS NA ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA - Filomena SilvanoDocumento13 páginasAS NOVAS ESCALAS NA ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA - Filomena SilvanoEell eeraAinda não há avaliações
- AntropologiaDocumento44 páginasAntropologiaMariane LopesAinda não há avaliações
- Claudete Daflon - NaturezaDocumento52 páginasClaudete Daflon - NaturezarafaelascardinoAinda não há avaliações
- Conceito de Lugar - Trab - GeografiaDocumento6 páginasConceito de Lugar - Trab - Geografiasara LaboroAinda não há avaliações
- Fichamento GregoryDekcerDocumento6 páginasFichamento GregoryDekcerJosé NetoAinda não há avaliações
- 1 - A Origem Da Filosofia e Introdução À Filosofia Pré-Socrática-mescladoDocumento244 páginas1 - A Origem Da Filosofia e Introdução À Filosofia Pré-Socrática-mescladoMarcela Souto MaiorAinda não há avaliações
- Texto BRITO HENRIQUES Eduardo Os Temas Culturais...Documento14 páginasTexto BRITO HENRIQUES Eduardo Os Temas Culturais...Leticia ValeAinda não há avaliações
- O Espaço Enquanto Produto Do TrabalhoDocumento16 páginasO Espaço Enquanto Produto Do TrabalhoBruno Mercante LourençoAinda não há avaliações
- Descola A Ontologia Dos OutrosDocumento26 páginasDescola A Ontologia Dos OutrosricherAinda não há avaliações
- O Projeto Na Pesquisa FenomenológicaDocumento11 páginasO Projeto Na Pesquisa FenomenológicajuleilaAinda não há avaliações
- IntroduAAo A FenomenologiaDocumento6 páginasIntroduAAo A FenomenologiaRodrigo Sousa FialhoAinda não há avaliações
- Monografia - A Vida e Obra de Edith SteinDocumento91 páginasMonografia - A Vida e Obra de Edith SteinHildebrando MartinsAinda não há avaliações
- 4.2 Pesquisa Empírica Do ArtistaDocumento3 páginas4.2 Pesquisa Empírica Do ArtistaAmmykil VethelotAinda não há avaliações
- Curso de Teoria Das Relações Internacionais - Thales de CastroDocumento5 páginasCurso de Teoria Das Relações Internacionais - Thales de CastroAnderson AmendolaAinda não há avaliações
- Semiótica Aplicada Ao Marketing A Marca Como SignoDocumento16 páginasSemiótica Aplicada Ao Marketing A Marca Como SignoAntonio LúcioAinda não há avaliações
- Teoria HumanisticaDocumento6 páginasTeoria HumanisticaEdgar Moreno Jr.Ainda não há avaliações
- O Inconsciente No Pensamento de Merleau-PontyDocumento13 páginasO Inconsciente No Pensamento de Merleau-PontyXiomaraMenesesAinda não há avaliações
- PATRÍCIA ESPÍNDOLA DE LIMA TEIXEIRA - A Formação Integral Da Pessoa em Edith SteinDocumento148 páginasPATRÍCIA ESPÍNDOLA DE LIMA TEIXEIRA - A Formação Integral Da Pessoa em Edith SteinFelipe DenardiAinda não há avaliações
- uemI2012p3g1Filosofia PDFDocumento9 páginasuemI2012p3g1Filosofia PDFDislene SilvaAinda não há avaliações
- R - D - Carla MannichDocumento144 páginasR - D - Carla MannichJoão BragaAinda não há avaliações
- Veresov PTDocumento17 páginasVeresov PTagata.souzaAinda não há avaliações
- Slides de Aula - Unidade IDocumento36 páginasSlides de Aula - Unidade Igoncalvess.biaAinda não há avaliações
- A Geografia Cultural e A História: Uma Leitura A Partir Da Obra de David LowenthalDocumento10 páginasA Geografia Cultural e A História: Uma Leitura A Partir Da Obra de David LowenthalTainara Duarte MoreiraAinda não há avaliações
- A Fenomenologia Como Método de Pesquisa em EstudosDocumento13 páginasA Fenomenologia Como Método de Pesquisa em EstudosCesar BauermannAinda não há avaliações
- (Paulo Meneses) para Ler A FenomenologiaDocumento9 páginas(Paulo Meneses) para Ler A FenomenologiaRubin NettinAinda não há avaliações
- Contribuição Fenomenologia A Geografia CulturalDocumento13 páginasContribuição Fenomenologia A Geografia CulturalLaerte Moreira Dos SantosAinda não há avaliações
- ALMEIDA - A Ética e Introdução À Filosofia de Emmanuel LevinasDocumento27 páginasALMEIDA - A Ética e Introdução À Filosofia de Emmanuel LevinasJúlio FlávioAinda não há avaliações
- Fenomenologia de Husserl - Uma Breve Leitura - Brasil EscolaDocumento6 páginasFenomenologia de Husserl - Uma Breve Leitura - Brasil EscolaFernando Galvao AndreaAinda não há avaliações