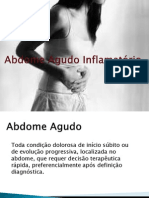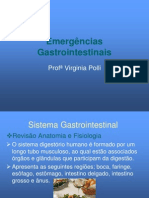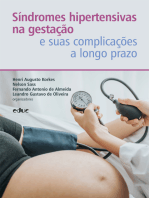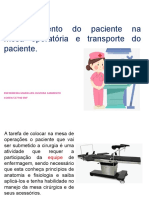Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Doenças Do Aparelho Digestivo Prof. Diniz
Doenças Do Aparelho Digestivo Prof. Diniz
Enviado por
Maria CoelhoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Doenças Do Aparelho Digestivo Prof. Diniz
Doenças Do Aparelho Digestivo Prof. Diniz
Enviado por
Maria CoelhoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DOENAS
DO
APARELHO DIGESTIVO
2 EDIO
DINIZ DE FREITAS
Professor Catedrtico de Gastrenterologia da
Faculdade de Medicina de Coimbra
Director do Servio de Gastrenterologia dos
Hospitais da Universidade de Coimbra
Director do Centro de Gastrenterologia
da Universidade de Coimbra
Coimbra 2002
Edio e Distribuio
AstraZeneca - Produtos Farmacuticos Lda
Rua Humberto Madeira 7 - Valejas
2745-663 Barcarena
Telf 21 434 61 00 Fax 21 434 61 92
Impresso e Acabamento - Rabiscos de Luz
A minha Mulher e a meus Filhos
A minha Famlia
A meus Mestres
Ao Servio de Gastrenterologia
dos Hospitais da Universidade de Coimbra
A meus Discpulos
A meus Condiscpulos e Amigos
3
NDICE
Prefcio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SECO I
ESFAGO
CAPTULO I
Pertubaes Motoras do Esfago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CAPTULO II
Doena do Refluxo Gastro-Esofgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
CAPTULO III
Tumores do Esfago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
CAPTULO IV
Outras Doenas do Esfago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
SECO II
ESTMAGO E DUODENO
CAPTULO V
Infeco pelo Helicobacter Pylori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
CAPTULO VI
Gastrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
CAPTULO VII
Dispepsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
CAPTULO VIII
lcera Pptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
CAPTULO IX
Tumores do Estmago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
ndice
5
Doenas do Aparelho Digestivo
6
SECO III
INTESTINO
CAPTULO X
Sndromes de M Absoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
CAPTULO XI
Doena Celaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
CAPTULO XII
Intolerncia Lactose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
CAPTULO XIII
Infeces Intestinais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
CAPTULO XIV
Parasitoses Intestinais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
CAPTULO XV
Isqumia Intestinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
CAPTULO XVI
Doena Inflamatria Intestinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
CAPTULO XVII
Sndrome do Clon Irritvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
CAPTULO XVIII
Doena Diverticular do Coln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
CAPTULO XIX
Plipos e Polipose do Clon e Recto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
CAPTULO XX
Tumores do Clon e Recto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
SECO IV
FGADO
CAPTULO XXI
Insuficincia Heptica Aguda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
CAPTULO XXII
Hepatite Viral Aguda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
CAPTULO XXIII
Hepatite Viral Crnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
CAPTULO XXIV
Doena Heptica Alcolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
CAPTULO XXV
Hepatotoxicidade por Drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
CAPTULO XXVI
Cirrose Heptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
CAPTULO XXVII
Hipertenso Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
CAPTULO XXVIII
Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
CAPTULO XXIX
Complicaes Sistmicas da Doena Heptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
CAPTULO XXX
Doenas Hepticas Auto-Imunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
CAPTULO XXXI
Doenas Metablicas e Genticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
CAPTULO XXXII
Tumores Hpaticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
ndice
7
SECO V
VESCULA E VIAS BILIARES
CAPTULO XXXIII
Litase Biliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
CAPTULO XXXIV
Tumores da Vescula, dos Ductos Biliares e da Ampola de Vater . . . . . . . . . . 703
SECO VI
PNCREAS
CAPTULO XXXVI
Pancreatite Aguda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
CAPTULO XXXVI
Pancreatite Crnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
CAPTULO XXXVII
Tumores do Pncreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
Doenas do Aparelho Digestivo
8
PREFCIO
Este livro traduz o extraordinrio labor daquele que considerado um dos melhores
Mestres da actual Faculdade de Medicina de Coimbra.
, no fim de contas, um Manual de Gastrenterologia muito actualizado, sucinto e
prtico, destinado aos alunos de Medicina de qualquer das nossas Faculdades, mas
tambm muito til, por certo, aos clnicos gerais e a todos aqueles que se interessam
pela Gastrenterologia e que desejam, numa consulta rpida, ficar informados sobre os
conhecimentos actuais de qualquer capitulo da Gastrenterologia.
No se limita, este livro, Gastrenterologia, num sentido restrito, pois abarca tambm
a Hepatologia, nomeadamente a doena hpatica, alcolica e virca, nas suas formas
aguda ou crnica e a patologia da rvore biliar.
A seleco e apresentao dos diversos temas, est sempre orientada pela grande
experincia pessoal do autor e condicionada pelas suas excepcionais qualidades
didcticas e de exposio.
Por tudo isto, recomendo a sua leitura e me sinto muito honrado por prefaciar to
valiosa e til obra.
Tom Ribeiro
Professor Catedrtico de Medicina Interna
Faculdade de Medicina do Porto
Prefcio
9
Doenas do Aparelho Digestivo
10
INTRODUO
Com cerca de trinta anos de exerccio do magistrio universitrio na Faculdade de
Medicina de Coimbra, e de vida profissional nos Hospitais da Universidade de
Coimbra, no mbito da Gastrenterologia, entendemos que seria oportuno elaborar um
novo compndio de doenas do aparelho digestivo, preponderantemente orientado
para a formao pr- e ps-graduao, e para a Clnica Geral.
Sendo este o objectivo educacional desta obra, idntico ao de Temas de
Gastrenterologia , em dois volumes, que publicamos em 1986 e 1989, procuramos
coligir informao actualizada em matrias consideradas nucleares, e com o
aprofundamento adequado a essa finalidade.
Durante o longo perodo da nossa vida acadmica e profissional, ocorreu uma
vertiginosa acelerao do conhecimento cientfico e tecnolgico, jamais testemunhada
em pocas mais remotas. O desenvolvimento da fibroendoscopia, com fins de
diagnstico e de teraputica, a descoberta do Helicobacter pylori, e das suas
implicaes patognicas, os notveis avanos na teraputica farmacolgica, a
identificao dos vrus da hepatite, o recente desenvolvimento de novas tcnicas de
imagiologia e a crescente implantao da transplantao hpatica, so algumas das
conquistas tecnocientficas que distinguiram as ltimas dcadas e conferiram
Gastrenterologia um estatuto de especialidade intangvel na sua autonomia, enorme
na sua dimenso e essencial na prestao de cuidados de sade. Entretanto, novos
avanos se perfilam e prelibam nos horizontes desta especialidade.
Apesar deste cenrio deslumbrante, marcado pela gnese, transferncia e consumo de
novos conhecimentos, que conferem precaridade temporal a qualquer texto mdico,
no esmorecemos na concretizao deste projecto editorial. Quem assume a docncia
clnica universitria tem redobrada responsabilidade na transmisso do saber e da
experincia que os anos vo sedimentando. Que este compndio de doenas do
aparelho digestivo represente uma contribuio til para a formao em
Gastrenterologia, so as nossas acalentadas e gratificantes expectativas.
Diniz de Freitas
Introduo
11
Doenas do Aparelho Digestivo
12
SECO I
ESFAGO
Doenas do Aparelho Digestivo
ESFAGO - Pertubaes Motoras do Esfago
15
SECO I - ESFAGO
CAPTULO I
PERTURBAES MOTORAS DO ESFAGO
1. Introduo
2. Classificao e Noes Gerais
3. Acalsia
4. Espasmo Difuso do Esfago
5. Esfago Quebra-Nozes
6. Esfincter Esofgico Inferior Hipertensivo
7. Motilidade Esofgica Ineficaz
8. Opes Teraputicas
15
Doenas do Aparelho Digestivo
1. INTRODUO
Funcionalmente o esfago pode ser dividido em trs zonas: esfincter esofgico supe-
rior, corpo do esfago e esfincter esofgico inferior. A funo dos esfincteres encon-
tra-se coordenada no s com a actividade do corpo do esfago, mas tambm com
a actividade na orofaringe e no estmago.
Vrios mecanismos de controlo da actividade motora esofgica esto localizados no
sistema nervoso central bem como, perifricamente, nos nervos intramurais e nos
msculos.
O esfago um rgo em que os mecanismos de controlo voluntrio e involuntrio
actuam conjuntamente. Durante a fase orofarngea da deglutio, o bolo alimentar
movido voluntariamente para a faringe, onde se iniciam contraces. Depois, o pro-
cesso torna-se involuntrio.
No esfago, a actividade de dois tipos de msculo encontra-se intimamente coorde-
nada. Cinco por cento do corpo superior do esfago, incluindo o esfincter esofgico
superior, integrado por msculo estriado. Cerca de 50-60% do esfago distal,
incluindo o esfincter esofgico inferior, constitudo por msculo liso. A zona de tran-
sio dos segmentos estriado e liso pode atingir 40% do comprimento do esfago.
Esta distribuio dos dois tipos de fibras musculares tem significado funcional, por-
que a maioria das perturbaes motoras esofgicas envolve a musculatura lisa.
A deglutio desencadeia o processo de actividade esofgica integrada. Entre as
degluties, o corpo esofgico e os seus esfincteres no se encontram totalmente pas-
sivos. O tnus do esfincter esofgico superior constitui uma barreira protectora do
refluxo esfago-farngeo, e o do esfincter esofgico inferior constitui um mecanismo
de defesa contra o refluxo gastro-esofgico. No corpo esofgico, por outro lado,
podem iniciar-se contraces peristlticas ou no peristlticas, independentemente da
deglutio, designadamente aps refluxo gastro-esofgico ou stress.
Aceita-se, no momento actual, que as perturbaes motoras esofgicas podem ser
explicadas pela ocorrncia de mecanismos fisiolgicos normais exagerados, ou pela
interferncia nesses mecanismos em um ou mais nveis do seu controlo.
Os distrbios motores no esfncter esofgico superior e no esfago cervical resultam
primariamente de uma falncia na excitao sequencial atravs da inervao extrnse-
ca, ou de doena na musculatura estriada.
As perturbaes da motilidade no corpo distal do esfago e no esfincter esofgico
inferior so condicionadas, numa perspectiva genrica, por dois tipos de anomalias,
que podem no entanto sobrepor-se. Uma delas caracteriza-se por hipomotilidade,
ESFAGO - Pertubaes Motoras do Esfago
17
registando-se diminuio da amplitude das contraces ou ausncia delas durante o
acto da deglutio. Na outra anomalia, predomina a hipermotilidade, caracterizada por
ondas de contraco de elevada amplitude, prolongadas ou repetitivas, e por contrac-
es espontneas de varivel frequncia, podendo ocorrer elevao da presso intra-
luminal e hipersensibilidade do esfago estimulao por colinrgicos ou por outros
agonistas excitatrios.
No esfincter esofgico inferior, a hipomotilidade caracteriza-se por diminuio da pres-
so basal e debilidade na contraco, enquanto que a hipermotilidade pode manifes-
tar-se sob a forma de um esfincter hipertensivo, hipersensibilidade estimulao exci-
tatria, ou reduzido/ausente relaxamento com a deglutio.
Admite-se que quando existe hipomotilidade, pelo menos trs mecanismos podem ser
responsabilizados. O msculo est afectado e no consegue responder estimulao,
como sucede na esclerodermia avanada; ou existe diminuio da excitao muscular,
de que exemplo a fase inicial da esclerodermia; ou a actividade muscular supri-
mida por excessiva ou no contrariada inibio, como ocorre nos relaxamentos tran-
sitrios do esfincter esofgico inferior, observados na doena de refluxo gastro-esof-
gico.
Os distrbios de hipermotilidade podem ser analisados na mesma perspectiva. Ou o
msculo liso est alterado, como pode suceder nalguns doentes com espasmo esof-
gico difuso idioptico, que apresentam espessamento da tnica muscular; ou respon-
de de forma exagerada aos neurotransmissores e hormonas circulantes; ou ainda,
como terceira hiptese, pode aumentar a estimulao nervosa do msculo, ou encon-
trar-se abolida a inibio neuronal do tnus muscular. tambm admissvel que uma
determinada perturbao motora seja condicionada pela conjugao de vrios meca-
nismos patognicos.
2. CLASSIFICAO E NOES GERAIS
De acordo com Katz e Castell, as perturbaes da motilidade esofgica, primrias ou
secundrias, so as seguintes:
Quanto s perturbaes secundrias da motilidade esofgica, esto resumidas no qua-
Doenas do Aparelho Digestivo
18
ESFAGO - Pertubaes Motoras do Esfago
19
PERTURBAES PRIMRIAS DA MOTILIDADE ESOFGICA
DEFEITO FUNCIONAL DESIGNAO ACHADO MANOMTRICO
Aperistalse Acalsia Peristalse distal ausente
a
Presso basal EEI (>45 mmHg)
b
Relaxamento incompleto do EEI
(presso residual > 8 mmHg)
b
Presso basal do corpo esofgico
b
Incoordenao Espasmo difuso Contraces simultneas >30 mmHg
a
motora (em 20% das degluties)
Peristalse intermitente
a
Contraces repetitivas (3 picos)
b
Contraces prolongadas (>6 seg.)
b
Contraces retrgradas
b
Relaxamentos incompletos isolados
do EEI
b
Hipercontractilidade Esfago Amplitude da peristalse distal
a
Quebra-nozes (180 mmHg)
Durao da peristalse distal
b
(>6 segundos)
EEI hipertensivo Presso basal do EEI >45 mmHg
a
Relaxamento incompleto do EEI
b
(presso residual >8 mmHg)
Hipocontractilidade Motilidade esofgica Peristalse no transmitida
c
ineficaz * (30%)
Amplitude da peristalse distal
c
(<30 mmHg em 30 degluties)
EEI hipotensivo Presso basal do EEI <10 mmHg
a
EEI - Esfincter esofgico inferior
a - Essencial para o diagnstico
b - Pode ser observado, no essencial
c - Ambos ou um deles podem ser observados
* - Pode ser secundria doente do refluxo gastro-esofgico
dro seguinte
Doenas do Aparelho Digestivo
20
PERTURBAES SECUNDRIAS DA MOTILIDADE ESOFGICA
DIAGNSTICO ACHADO MANOMTRICO
Esclerose sistmica Perda da peristalse distal
Presso baixa no EEI (<10 mmHg)
Normalidade no esfago proximal e EES
(msculo estriado)
Doena de Chagas Idntico ao da acalsia
Diabetes mellitus Vrias anomalias motoras no corpo do esfago
Pseudo-obstruo intestinal Perda da motilidade esofgica distal
crnica idioptica
Doena do refluxo gastro-esofgico Motilidade ineficaz
EEI hipotensivo
EES - Esfincter esofgico superior
Embora seja desconhecida a exacta prevalncia das perturbaes motoras do esfa-
go, um estudo em 1.161 doentes adultos com dor torcica ou disfagia encontrou ano-
malias da motilidade em 33% dos casos (53% na disfagia e 28% na dor torcica).
Deve suspeitar-se de distrbio motor esofgico nos doentes com queixas de disfagia,
dor torcica e odinofagia. Infelizmente, no h sinais ou sintomas especficos que per-
mitam formular um diagnstico definitivo com base na histria clnica. essencial eli-
minar uma causa orgnica da disfagia com base no exame endoscpico ou radiolgi-
co. Quanto dor torcica, deve eliminar-se, em primeiro lugar, a sua origem cardaca.
A odinofagia (deglutio dolorosa) ocorre raramente nas perturbaes primrias da
motilidade do esfago, exigindo a procura de outras causas: infeco, agresso por
frmacos, doena do refluxo gastro-esofgico.
O diagnstico de uma perturbao primria da motilidade esofgica assenta na clni-
ca, nos exames endoscpico e radiolgico, e no estudo da manometria esofgica. Este
ltimo essencial para a definio da presena e do tipo de distrbio motor.
3. ACALSIA
Definio
A acalsia uma perturbao motora primria do esfago de causa desconhecida,
caracterizada manometricamente por insuficiente relaxamento do esfincter esofgico
inferior (EEI) e ausncia de peristalse esofgica, e radiologicamente por aperistalse,
dilatao do esfago, abertura mnima do EEI, que apresenta um aspecto em bico
de pssaro, e deficiente esvaziamento da papa baritada.
Os dados disponveis sugerem como possveis causas da acalsia: factores heredit-
rios, degenerativos, auto-imunes e infecciosos. Os dois ltimos so os mais frequen-
temente aceites.
Na autpsia ou em retalhos de miotomia, encontram-se alteraes anatomo-patolgi-
cas a nvel do plexo mientrico de Auerbach: reaco inflamatria intensa mas focal,
com infiltrado de linfcitos T, eosinfilos e mastcitos, perda das clulas gangliona-
res e um certo grau de fibrose neuronal mientrica. O resultado final destas altera-
es inflamatrias, a perda selectiva dos neurnios inibitrios ps-ganglionares que
contm xido ntrico e VIP (vasoactive intestinal polypeptide). Os neurnios ps-gan-
glionares colinrgicos do plexo mientrico esto poupados, induzindo uma estimula-
o colinrgica no contrariada pela inibio. Estes achados justificariam o apareci-
mento das alteraes manomtricas tpicas da acalsia.
Clnica
A acalsia pode originar um amplo espectro de sintomas: disfagia, dor torcica, regur-
gitao, odinofagia e por vezes azia.
A disfagia o sintoma dominante, presente em virtualmente todos os doentes. Pode
ser inicialmente intermitente e s para slidos, mas lentamente vai piorando e acaba
por incluir tambm lquidos. A evoluo indolente, de tal sorte que alguns doentes
s procuram o mdico aps alguns anos de queixas.
A regurgitao tambm um sintoma comum, ocorrendo tipicamente algumas horas
aps a refeio. A regurgitao nocturna pode originar tosse durante o sono. A pneu-
monia por aspirao uma eventual complicao.
A dor torcica pode estar presente em percentagens que atingem os 50% nalgumas
sries. No entanto, a acalsia contribui com menos de 1% para os casos de dor tor-
cica no cardaca.
ESFAGO - Pertubaes Motoras do Esfago
21
A perda de peso acontece nos estdios iniciais da doena, secundria incapacidade
de esvaziamento adequado do esfago e ao receio de dor ou disfagia com a inges-
to de alimentos. medida que o esfago dilata, a presso hidrosttica do bolo ali-
mentar retido consegue ultrapassar a hipertonia do EEI, pelo que o esvaziamento
passa a estar mais facilitado, ocorrendo ento recuperao ponderal.
A acalsia secundria, ou pseudo-acalsia, uma situao clnica que mimetiza a aca-
lsia genuna, sendo ocasionada sobretudo por processos tumorais que infiltram a
juno esofago-gstrica. No entanto, neoplasias distantes, como o cancro do pulmo,
podem tambm originar uma acalsia secundria. Trs aspectos clnicos podem suge-
rir uma origem maligna da acalsia: curta durao da disfagia (< 1 ano), perda de peso
significativa e idade superior a 55 anos. Ocasionalmente a pseudo-acalsia resulta de
processos no malignos: doena de Chagas, pseudo-obstruo intestinal crnica,
situao ps-vagotomia, amiloidose, sarcoidose e pseudo-quisto do pncreas.
Avaliao Diagnstica
Ante a suspeita clnica de acalsia, o doente deve ser submetido a um estudo radio-
lgico baritado do esfago, a exame manomtrico, a endoscopia digestiva alta e even-
tualmente a outros exames, quando h suspeita de acalsia secundria.
No esofagograma baritado, clssico o achado de uma dilatao do esfago com afi-
lamento regular da sua poro distal, lembrando um bico de pssaro.
Frequentemente detectam-se nveis hidro-areos na zona mdio-esofgica. Nas formas
iniciais da doena, ainda sem dilatao esofgica, um exame fluoroscpico por radio-
logista experiente pode sugerir o diagnstico.
A manometria esofgica o gold standard no diagnstico da acalsia. Os achados
tpicos esto indicados no quadro atrs apresentado.
O exame endoscpico tem muito interesse, no para formular o diagnstico de aca-
lsia, mas para excluir outras doenas e diagnosticar complicaes. Na acalsia idio-
ptica, a mucosa normal e a passagem do endoscpio no crdia faz-se com relati-
va facilidade, apesar de uma leve ou moderada resistncia. medida que a doena
progride, a visualizao de dilatao luminal e tortuosidade sugere fortemente o diag-
nstico. Uma resistncia acentuada na zona crdica, ou a impossibilidade de penetra-
o no estmago, apontam para a existncia de uma estenose ou neoplasia como
causa da acalsia. Na inspeco endoscpica, importante obter uma imagem do cr-
dia mediante a retroflexo do endoscpio na cavidade gstrica.
Se existe suspeita de acalsia secundria, deve solicitar-se um Rx do trax e uma
tomografia computorizada do trax e abdmen. A eco-endoscopia pode ser muito til
na identificao de infiltrao tumoral da submucosa.
Doenas do Aparelho Digestivo
22
Tratamento
No existe tratamento para restaurar a actividade muscular do esfago acalsico des-
nervado. Todas as opes actuais de tratamento limitam-se a reduzir o gradiente de
presso no EEI, facilitando desse modo o esvaziamento esofgico pela gravidade. Isso
consegue-se, de forma mais eficaz, pela dilatao pneumtica ou pela miotomia cirr-
gica, e de forma menos efectiva por agentes farmacolgicos injectados por via endos-
cpica no EEI (toxina botulnica) ou tomados por via oral (bloqueadores dos canais
de clcio e nitratos).
Dilatao pneumtica. Trata-se da opo teraputica no cirrgica mais eficaz.
Mediante a insuflao de um balo dilatador colocado na zona do esfincter, promo-
ve-se a disrupo das suas fibras musculares circulares. Vrios tipos de dilatadores
foram utilizados no passado. Actualmente, os bales de polietileno (Microvasive
Rigiflex Dilators) so porventura os mais utilizados. So bales com trs diferentes
dimetros (3, 3.5 e 4 cm), colocando-se na posio correcta mediante o auxlio da
endoscopia e da fluoroscopia. Aps a dilatao pneumtica, os doentes devem reali-
zar um exame radiolgico do esfago com gastrografina para excluir a hiptese de
perfurao.
Utilizando os dilatadores graduados, ocorre alvio dos sintomas, bom ou excelente,
em percentagens que variam, consoante as sries, entre 50-93%. Numa srie recente
de 359 doentes tratados sequencialmente com bales de 3, 3.5 e 4 cm, obtiveram-se
resultados considerados bons ou excelentes, em 74%, 86% e 90% dos casos, respec-
tivamente. A necessidade de novas dilataes baseia-se na persistncia de sintomas,
usualmente avaliados s quatro semanas ps-dilatao, ou na recorrncia dos sinto-
mas ao longo do tempo.
A taxa acumulada de perfurao de 2%, aproximadamente e varia, naturalmente,
com a experincia do operador. Outras possveis complicaes, menos prevalentes:
refluxo gastro-esofgico (0-9%), pneumonia por aspirao, hemorragia digestiva e
hematoma esofgico.
Os doentes com esfago dilatado e tortuoso, com divertculos esofgicos ou com pr-
via cirurgia na juno gastro-esofgica, tm maior risco de perfurao, estando neles
indicada a miotomia cirrgica.
Miotomia cirrgica. Envolve a realizao de uma miotomia anterior (interveno de
Heller) na zona do EEI, usualmente associada a cirurgia anti-refluxo (por ex. Nissen).
Os resultados dos estudos publicados, utilizando uma abordagem abdominal ou tor-
cica, evidenciam benefcio sintomtico, bom ou excelente, em 83% dos casos, com
uma mdia de follow-up de 7 anos. A principal complicao da miotomia de Heller
o refluxo gastro-esofgico (10-22%). A mortalidade operatria muito baixa (0.2 % a
1 %), no reportando a maioria das sries mortes directamente relacionadas com a
ESFAGO - Pertubaes Motoras do Esfago
23
interveno.
A cardiomiotomia laparoscpica uma variante cirrgica crescentemente utilizada.
Numa srie recente de 254 doentes tratados por este mtodo, os resultados foram
bons a excelentes em 94% dos casos. Antes da cirurgia laparoscpica, a indicao mais
comum para sano cirrgica era a falncia da dilatao pneumtica. Com esta nova
tcnica laparoscpica, cresceu o nmero de doentes tratados inicialmente por cirurgia.
Injeco endoscpica de toxina botulnica. Trata-se da mais recente alternativa tera-
putica para a acalsia. A toxina botulnica, tipo A, actua por inibio da libertao de
acetilcolina nas transmisses nervosas, contrabalanando desse modo o efeito da
perda selectiva dos neurotransmissores inibitrios na acalsia. Aps diluio em soro
fisiolgico, a toxina botulnica injectada endoscpicamente, utilizando uma agulha
de escleroterpia, na zona do EEI, em quatro doses de 20-25 unidades, em cada um
de quatro quadrantes, num total de 80-100 unidades.
A eficcia inicial no alvio dos sintomas de cerca de 85%. Contudo, os sintomas
recorrem em 50% dos doentes ao cabo de 6 meses, provavelmente por regenerao
dos receptores afectados. Os doentes com mais de 60 anos de idade, e os que apre-
sentam acalsia vigorosa (amplitude esofgica > 40 mmHg), tm uma resposta mais
sustentada (at 1.5 anos) a esta teraputica. Dos doentes que respondem 1 injec-
o, 76% respondero a uma 2 injeco, mas a resposta vai diminundo com a repe-
tio do mtodo, provavelmente pela formao de anticorpos.
A longo prazo, a injeco com toxina botulnica menos eficaz do que a dilatao
pneumtica. Alm disso, alguns trabalhos revelam que a cardiomiotomia cirrgica
menos eficaz e mais difcil em doentes submetidos prviamente toxina botulnica.
Por isso, esta teraputica farmacolgica deve ser reservada para pacientes idosos, ou
de alto risco cirrgico, ou que recusam a dilatao pneumtica e a cirurgia.
Bloqueadores de clcio e nitratos. So efectivos na reduo da presso do EEI, mas
no melhoram o relaxamento do EEI ou a peristalse. A resposta clnica tem curta dura-
o, e a eficcia vai diminundo com o tempo. Utilizam-se por via sublingual, na dose
de 10-30 mg para a nifedipina, e de 5-20 mg para o dinitrato de isosorbido, 15-45
minutos antes das refeies. Esto indicados nos doentes que recusam teraputicas
invasivas e onde falhou a toxina botulnica.
Tendo em conta as consideraes tecidas, sugere-se o seguinte algoritmo de trata-
mento na acalsia:
Doenas do Aparelho Digestivo
24
Complicaes
Podem desenvolver-se processos inflamatrios na poro distal do esfago acalsico
por trs mecanismos: infeco, que resulta mais frequentemente da candidase; esta-
se, que pode condicionar inflamao pela aco irritante de alimentos ou por efeito
de proliferao bacteriana; e agresso iatrognica por medicamentos e lcool.
Existe uma associao entre a acalsia e o carcinoma do esfago. Estima-se uma pre-
valncia aproximada de 3.5% de carcinomas do esfago em doentes com acalsia.
de 17-28 anos o tempo que decorre entre o incio dos sintomas desta doena, e o
desenvolvimento de cancro esofgico. A maioria dos autores sugerem vigilncia
endoscpica cada 2-5 anos, em doentes com acalsia de longa evoluo.
4. ESPASMO DIFUSO DO ESFAGO (EDE)
O EDE uma perturbao motora observada em doentes com dor torcica de causa
ou
Esofagectomia
Alto risco cirrgico / Recusa cirurgia
Miotomia
laparoscpica
Dilatao
pneumtica
Baixo risco cirrgico
DOENTE COM ACALSIA
Toxina botulnica (80 - 100 U)
Insucesso
xito
Sucesso Insucesso
Insucesso
xito
Repetir
miotomia
Dilatao
pneumtica
? Dilatao
pneumtica
Bloqueador de clcio
ou nitratos
Referir a centro
especializado
ESFAGO - Pertubaes Motoras do Esfago
25
indeterminada ou disfagia, associadas a peristalse esofgica desordenada e a severas
contraces tercirias no estudo radiolgico do esfago.
Manometricamente caracterizado por incoordenao motora, detectando-se no regis-
to da motilidade, em simultneo, contraces esofgicas distais e peristalse normal.
Um estudo recente em 1.161 doentes com dor torcica no cardaca ou disfagia, reve-
lou que o EDE foi detectado em 10% dos traados manomtricos. Segundo Katz e
Castell, a prevalncia seria realmente menor.
No tocante etiologia e patofisiologia, as investigaes recentes sugerem que o es-
fago dos doentes com espasmo difuso evidencia hipersensibilidade na resposta a est-
mulos colinrgicos ou hormonais (metacolina, edrofonium, betanecol, pentagastrina).
Este aumento da sensibilidade esofgica poder ser mediado por um defeito da ini-
bio neural possivelmente relacionada com diminuio do xido ntrico disponvel.
No se sabe se estes efeitos tambm ocorrem noutras anomalias motoras.
Os sintomas dominantes do EDE so, como j acentuamos, a dor torcica recorrente
e a disfagia. A dor frequentemente indistinguvel do angor pectoris, podendo inclu-
sivamente ser aliviada com a nitroglicerina. No entanto, raramente se relaciona com
o exerccio. A disfagia intermitente, no progressiva, associada a lquidos e slidos,
e pode ser precipitada pelo stress, bebidas quentes ou frias, ou pela deglutio rpi-
da de alimentos. O diagnstico requer confirmao por radiologia e manometria.
Os achados radiolgicos do esfago so variveis. Muitos exames so normais. A dis-
rupo da peristalse primria distal com aparecimento de actividade terciria, origi-
nando o clssico aspecto em saca-rolhas, o achado mais comum. A propulso pro-
ximal do contraste normal.
Os achados manomtricos encontram-se descritos no quadro apresentado no captu-
lo Classificao.
Em geral, o prognstico excelente. A transio para um quadro de acalsia pode
ocorrer em 3-5% dos doentes com EDE. Relativamente ao tratamento, ser abordado
no final deste tema, englobando outras perturbaes motoras no acalsicas.
5. ESFAGO QUEBRA-NOZES
Trata-se de uma situao de hipercontractilidade esofgica, com presses peristlticas
no esfago distal superiores a 180 mmHg em indivduos sintomticos. Podem tambm
ocorrer contraces de durao prolongada.
Os padres manomtricos do esfago quebra-nozes foram detectados em 48% de
Doenas do Aparelho Digestivo
26
doentes com dor torcica no cardaca, na maior srie de casos estudados (910 doen-
tes).
A etiologia desconhecida. A ocasional transio para outras anomalias motoras ou
para a acalsia, suscita a hiptese de o esfago quebra-nozes representar o incio
de um espectro de situaes que culminaria na acalsia. interessante sublinhar que
existe com frequncia uma sobreposio de quadros clnicos de esfago quebra-
nozes e de clon irritvel, sugerindo que podemos estar em presena de um distr-
bio funcional generalizado.
Cerca de 90% dos doentes apresentam dor torcica. A disfagia um sintoma menos
comum. Sintomas associados incluem: depresso, ansiedade e somatizao. Como
sublinhamos, frequente a associao com quadros de clon irritvel.
Por definio, todos os doentes tm peristalse normal, pelo que o estudo radiolgi-
co do esfago no evidencia habitualmente anomalias. Ocasionalmente ocorrem
ondas tercirias e evidncia de hrnia hiatal.
O diagnstico de esfago quebra-nozes exige um estudo manomtrico. Os achados
manomtricos tpicos esto indicados no quadro j antes referenciado. interessante
acentuar que os doentes com esta perturbao motora tm tendncia para evidenciar
achados manomtricos diferentes no follow-up a longo prazo. Registam-se por vezes
traados normais, ou traados mais sugestivos de EDE ou de distrbios motores no
especficos.
Embora seja ainda controversa a relao entre o esfago quebra-nozes e a dor tor-
cica no cardaca, na medida em que alguns factos depem contra essa potencial rela-
o, no momento actual tende a considerar-se que o padro motor tpico do esfago
quebra-nozes um marcador da sndrome de dor torcica no cardaca.
6. ESFINCTER ESOFGICO INFERIOR HIPERTENSIVO
Trata-se de uma anomalia motora rara, de etiologia desconhecida, caracterizada mano-
metricamente por uma presso do esfincter esofgico inferior (EEI), em repouso,
usualmente superior a 45 mmHg, associada a peristalse normal.
um distrbio tipicamente observado em doentes em avaliao por dor torcica inex-
plicvel. A frequncia do EEI hipertensivo varia entre 0.5 2.8 %.
interessante salientar que traados de EEI hipertensivo podem ocorrer ocasional-
mente na doena do refluxo gastro-esofgico.
ESFAGO - Pertubaes Motoras do Esfago
27
7. MOTILIDADE ESOFGICA INEFICAZ (MEI)
Aps o importante estudo de Leite et al, vrios trabalhos foram realizados para
melhor caracterizar a MEI. Aceita-se, actualmente, que se trata de uma entidade mano-
mtrica distinta, caracterizada por um esfago hipocontrctil. A amplitude das contrac-
es no esfago distal inferior a 30 mmHg em ? 30% das degluties. A MEI um
achado manomtrico reprodutvel, comummente detectado na doena do refluxo gas-
tro-esofgico, particularmente quando associada a sintomas respiratrios.
8. OPES TERAPUTICAS
No quadro que se apresenta, esto sintetizadas as potenciais opes teraputicas
para as perturbaes da motilidade esofgica, exceptuando-se a acalsia que j foi
objecto de referncia especial.
Doenas do Aparelho Digestivo
28
POTENCIAIS TERAPUTICAS DAS PERTURBAES MOTORAS DO ESFAGO
(Excluindo a acalsia)
MODALIDADE DE DOSE MODO DE ADMINISTRAO
TRATAMENTO
Apoio psicolgico
Nitratos
- Nitroglicerina 0.4 mgr sublingual usualmente antes das refeies
- Isosorbido 10 30 mgr oral 30 minutos antes das refeies
Analgesia visceral
- Imipramina 50 mgr oral ao deitar
Sedativos, antidepressivos
- Alprazolan 2 5 mgr oral 4 x / dia
- Trazodona 50 mgrs oral 34 x / dia
Bloqueadores dos
canais de clcio
- Nifedipina 10 30 mgr 4 x / dia
- Diltiazem 60 90 mgr 4 x / dia
Relaxantes do
msculo liso
- Hidralazina 25 50 mgr oral 3 x / dia
- Toxina botulnica 80 Unidades injeco no EEI (via endoscpica)
Dilatao esttica Velas 56-60 French Repetir se necessrio
Dilatao pneumtica
a
Esofagomiotomia
b
a Pode estar indicada nos casos de disfagia proeminente
b Raramente indicada (intratabilidade)
ESFAGO - Pertubaes Motoras do Esfago
29
ESFAGO - Pertubaes Motoras do Esfago
REFERNCIAS
Katz PO, Castell JA. Nonachalasia motility disorders. In: Castell DO, Richter JE, eds. The esophagus.
Lippincott Williams & Wilkins; 2000: 215-234.
Janssens J, Tack J. The esophagus and noncardiac chest pain. In: Castell DO, Richter JE, eds. The esophagus.
Lippincott Williams & Wilkins; 2000: 581-590.
Castell JA, Gideon RM. Esophageal manometry. In: Castell DO, Richter JE, eds. The esophagus. Lippincott Williams & Wilkins; 2000: 101-118.
Smout AJP. Ambulatory monitoring of esophageal pH and pressure. In: Castell DO, Richter JE, eds. The esophagus.
Lippincott Williams & Wilkins; 2000: 119-134.
American Gastroenterological Association medical position statement on management of oropharingeal Dysphagia.
Gastroenterology 1999; 116: 452-454.
Cohen S, Parkman HP. Achalasia. In: Wolfe MM, ed. Therapy of Digestive Disorders. W.B.Saunders Co.; 2000: 17-26.
Richter JE. Approach to the patient with noncardiac chest pain. In: Wolfe MM, ed. Therapy of Digestive Disorders.
W.B.Saunders Co.; 2000:27-36.
Rome II: a multinational consensus document on functional gastrointestinal disorders. Gut; 1999, 45: Suppl.II.
Fass S, Fennerty MB, Ofman JJ, et al. The clinical and economical value of a short course of omeprazole in patients with noncardiac chest pain.
Gastroenterology; 1998, 115: 42-49.
Ringel Y, Drossman DA. Treatment of patients with functional esophageal symptoms. J Clin Gastroenterol; 1999, 28(3): 189-193.
Richter JE, Vaezi MF. Current therapies for achalasia. J Clin Gastroenterol; 1998, 27(1): 21-35.
Podas T, Eaden J, Mayberry M, et al. Achalasia: a critical review of epidemiological studies. Am J Gastroenterol; 1998, 93: 2345-47.
Richter JE. Functional esophageal disorders. In: Drossman DA ed. The functional gastrointestinal disorders.
Little, Brown and Comp; 1994: 25-70.
Evans DF. The esophagus: clinical physiology. In: Phillips SF, Wingate DL, eds. Functional Disorders of the Gut.
Churchill Livingstone; 1998: 152-176.
Tobin RW, Pope II CE. The esophagus: disorders of swallowing and chest pain. In: Phillips SF, Wingate DL, eds. Functional Disorders of the
Gut. Churchill Livingstone; 1998: 177-195.
Camilleri M. Gastrointestinal motility in clinical practice. Gastroenterol Clin N Am; 1996: 25(1).
Mittal RK. Pharmacotherapy of the esophageal motor disorders. In: Friedman G, Jacobson ED, McCallum RW, eds. Gastrointestinal
Pharmacology & Therapeutics. Lippincott-Raven; 1997: 97-102.
Souto P, Gomes D, Gregrio C, Gouveia H, Freitas D. Tratamento da acalsia esofgica com injeco de toxina botulnica. GE J Port.
Gastroenterol; 1998; 5(3): 169-176.
Patti MG, Diener U, Molena D. Esophageal achalasia: preoperative assessment and postoperative follow-up. J Gastrointest Surg.
2001 Jan-Feb;5(1):11-2.
Urbach DR, Hansen PD, Khajanchee YS, Swanstrom LL. A decision analysis of the optimal initial approach to achalasia: laparoscopic Heller
myotomy with partial fundoplication, thoracoscopic Heller myotomy, pneumatic dilatation, or botulinum toxin injection. J
Gastrointest Surg. 2001 Mar-Apr;5(2):192-205.
Richter JE. Comparison and cost analysis of different treatment strategies in achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Apr;11(2):359-70.
Ali A, Pellegrini CA. Laparoscopic myotomy: technique and efficacy in treating achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Apr;11(2):347-58.
Kadakia SC, Wong RK. Pneumatic balloon dilation for esophageal achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Apr;11(2):325-46.
Hoogerwerf WA, Pasricha PJ. Pharmacologic therapy in treating achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Apr;11(2):311-24, vii. Review.
Gonlachanvit S, Fisher RS, Parkman HP. Diagnostic modalities for achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Apr;11(2):293-310.
Eckardt VF. Clinical presentations and complications of achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Apr;11(2):281-92.
Achkar E. Diseases associated with or mimicking achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Apr;11(2):267-80.
Paterson WG. Etiology and pathogenesis of achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Apr;11(2):249-66.
Mayberry JF. Epidemiology and demographics of achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Apr;11(2):235-48.
Bittinger M, Wienbeck M. Pneumatic dilation in achalasia. Can J Gastroenterol. 2001 Mar;15(3):195-9
Mearin F, Fonollosa V, Vilardell M, Malagelada JR. Mechanical properties of the gastro-esophageal junction in health, achalasia, and sclero-
derma. Scand J Gastroenterol. 2000 Jul;35(7):705-10.
Clark SB, Rice TW, Tubbs RR, Richter JE, Goldblum JR. The nature of the myenteric infiltrate in achalasia: an immunohistochemical analysis.
Am J Surg Pathol. 2000 Aug;24(8):1153-8.
Peracchia A, Bonavina L. Achalasia: dilation, injection or surgery? Can J Gastroenterol. 2000 May;14(5):441-3
Storr M, Allescher HD. Esophageal pharmacology and treatment of primary motility disorders. Dis Esophagus. 1999;12(4):241-57.
Bowrey DJ, Blom D, Lord RV. Surgical treatment of achalasia: thoracoscopic or laparoscopic? Am J Gastroenterol. 2000 Apr;95(4):1087-8.
Kolbasnik J, Waterfall WE, Fachnie B, Chen Y, Tougas G. Long-term efficacy of Botulinum toxin in classical achalasia: a prospective study.
Am J Gastroenterol. 1999 Dec;94(12):3434-9.
Vaezi MF, Richter JE. Diagnosis and management of achalasia. American College of Gastroenterology Practice Parameter Committee.
Am J Gastroenterol. 1999 Dec;94(12):3406-12.
Raymond L, Lach B, Shamji FM. Inflammatory aetiology of primary oesophageal achalasia: an immunohistochemical and ultrastructural study
of Auerbach's plexus. Histopathology. 1999 Nov;35(5):445-53.
Bassotti G, Annese V. Review article: pharmacological options in achalasia. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Nov;13(11):1391-6.
De Giorgio R, Di Simone MP, Stanghellini V, Barbara G, Tonini M, Salvioli B, Mattioli S, Corinaldesi R. Esophageal and gastric nitric oxide
synthesizing innervation in primary achalasia. Am J Gastroenterol. 1999 Sep;94(9):2357-62.
Ho KY, Tay HH, Kang JY. A prospective study of the clinical features, manometric findings, incidence and prevalence of achalasia in Singapore.
J Gastroenterol Hepatol. 1999 Aug;14(8):791-5.
Ponce J, Garrigues V, Pertejo V, Sala T, Berenguer J. Comments on current therapies for achalasia. J Clin Gastroenterol. 1999 Sep;29(2):212.
No abstract available.
Vaezi MF. Achalasia: diagnosis and management. Semin Gastrointest Dis. 1999 Jul;10(3):103-12.
Alonso P, Gonzalez-Conde B, Macenlle R, Pita S, Vazquez-Iglesias JL. Achalasia: the usefulness of manometry for evaluation of treatment.
Dig Dis Sci. 1999 Mar;44(3):536-41.
Torbey CF, Achkar E, Rice TW, Baker M, Richter JE. Long-term outcome of achalasia treatment: the need for closer follow-up. J Clin
Gastroenterol. 1999 Mar;28(2):125-30.
Horgan S, Pellegrini CA. Botulinum toxin injections for achalasia symptoms. Am J Gastroenterol. 1999 Feb;94(2):300-1.
Vaezi MF, Richter JE, Wilcox CM, et al. Botulinum toxin versus pneumatic dilatation in the treatment of achalasia: a randomised trial.
Gut. 1999 Feb;44(2):231-9.
Doenas do Aparelho Digestivo
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
31
SECO I - ESFAGO
CAPTULO II
DOENA DO REFLUXO GASTRO-ESOFGICO
1. Definio
2. Epidemiologia
3. Factores de Risco
4. Patofisiologia
5. Clnica e Histria Natural
6. Diagnstico
7. Tratamento
31
Doenas do Aparelho Digestivo
1. DEFINIO
O refluxo gastro-esofgico corresponde passagem de uma parte do contedo gs-
trico para o esfago. Na prtica clnica designa uma afeco frequente caracterizada
por sintomas e/ou leses esofgicas relacionadas com esse refluxo. As leses da
mucosa esofgica correspondem esofagite por refluxo (esofagite pptica). Esta eso-
fagite pode complicar-se de estenose, lcera, hemorragia ou de metaplasia cilndrica
do esfago distal denominada endobraquiesfago ou esfago de Barrett. Os sintomas
podem evoluir sem leses esofgicas ou, mais raramente, as leses esofgicas podem
ser assintomticas.
A doena do refluxo gastro-esofgico (DRGE) no tem, infelizmente, uma definio pre-
cisa. Consequentemente, o conhecimento da sua real epidemiologia ou da sua hist-
ria natural tem sido dificultado. Na ausncia de um gold standard para diagnosticar
a DRGE, vrios investigadores e clnicos tm procurado definir esta entidade com base
em sintomas, em sinais endoscpicos, na pH-metria das 24 horas ou mesmo na res-
posta teraputica de inibio cida. importante sublinhar que cada uma destas
vertentes caracteriza somente um aspecto particular da doena. De facto, como assi-
nalamos, a DRGE pode existir quando s ocorrem sintomas sem evidncia de esofa-
gite macroscpica, ou vice-versa. Por outro lado, uma exposio aumentada ao cido
pode induzir, ou no, sintomas e leses erosivas. A ausncia de sintomas em presen-
a de uma exposio cida aumentada, significa a inexistncia de sensibilidade eso-
fgica ao cido clordrico. Deste modo, existe uma crescente percepo de que o reflu-
xo sintomtico, as alteraes endoscpicas e a exposio anormal ao cido so trs
indicadores da DRGE, independentes mas relacionadas.
Em termos gerais, a DRGE usualmente classificada em dois grupos, com base nos
achados do exame endoscpico: DRGE erosiva ou no erosiva. Nos doentes deste lti-
mo grupo, a pH-metria das 24 horas define dois subtipos: os que evidenciam um
aumento da exposio ao cido clordrico, e os que no apresentam essa caracters-
tica. Estes ltimos doentes tm um esfago cido-sensvel ou azia funcional, como
alguns autores preferem.
Deste modo, a estratificao dos doentes com DRGE poder ser feita da seguinte
forma:
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
33
Caractersticas DRGE DRGE no-erosiva DGRE no-erosiva
tpicas erosiva (exposio anormal ao cido) (cido-sensvel/azia funcional)
Sintomas de Presente/ Presente Presente
refluxo /ausente
pH-metria (24 horas) Anormal Anormal Normal
Eroses Presente Ausente Ausente
2. EPIDEMIOLOGIA
A maioria dos estudos que procuram analisar a epidemiologia da DRGE, baseiam-se
na prevalncia dos sintomas ou nos achados endoscpicos.
A Epidemiologia da DRGE com base nos sintomas
A azia e a regurgitao cida so considerados os sintomas cardinais da DRGE. A
epidemiologia da azia razoavelmente consistente nos pases ocidentais. Numa
prospeco escala nacional realizada na USA, 44% da populao referiu sintomas
de DRGE em perodos mensais. Num questionrio endereado por via postal a 2.200
indivduos predominantemente de raa branca, na USA, Locke et al. apuraram uma
prevalncia de azia e de regurgitao cida nos ltimos 12 meses, de 42% e 45%,
respectivamente. Nesse estudo, os autores registaram sintomas de azia e/ou regurgi-
tao, pelo menos semanal, em 20% dos inquiridos. Estas cifras de prevalncia
foram confirmadas num estudo canadiano recente, onde se apurou, numa pesquisa
envolvendo 1036 indivduos, uma taxa de prevalncia de azia, nos ltimos 3 meses,
de 43%; sintomas de intensidade moderada, ocorrendo pelo menos uma vez por
semana, estavam presentes em 13%. Taxas elevadas de prevalncia de GERD sinto-
mtica tm sido registadas igualmente em pases europeus. Na Finlndia, um estudo
englobando 1700 indivduos recrutados na populao, registou uma prevalncia de
azia no ms anterior, ou no ano anterior, de 21% e 27%, respectivamente.
Em resumo, a prevalncia de sintomas de DRGE, pelo menos ocasionais, no mundo
ocidental, situa-se entre 12-54% (D. Provenzale). Um estudo na populao chinesa
revelou uma prevalncia de azia e/ou regurgitao cida de 16.9%, dentro dos limites
reportados nos estudos dos pases ocidentais.
B Epidemiologia da DRGE com base nos achados endoscpicos
A prevalncia real de esofagite endoscpica difcil de avaliar em rastreios popula-
cionais, por razes logsticas, ticas e de custo. De modo que estes dados s podem
ser inferidos indirectamente, mediante a avaliao endoscpica de doentes observa-
dos no internamento hospitalar ou no ambulatrio. Por outro lado, a comparao des-
tes estudos complicada pela circunstncia de existirem vrios critrios de classifica-
o das leses esofgicas detectadas no exame endoscpico. Alm disso, alguns
doentes com quadros de esofagite erosiva, no vo consulta.
Alguns investigadores avaliaram a prevalncia de esofagite macroscpica em doentes
de uma regio demarcada, que procuraram cuidados mdicos, e extrapolaram os
dados para a populao global. Por exemplo, Loof et al. analisaram os resultados de
6733 endoscopias digestivas altas efectuadas ao longo de 2 anos, em Uppsala,
Sucia. A prevalncia de esofagite endoscpica foi de 10%, e a incidncia calculada
Doenas do Aparelho Digestivo
34
foi de 120/100.000 habitantes, por ano. A incidncia mdia de Barrett foi calculada em
1.7/100.000, por ano.
Venables et al. num estudo multicntrico realizado no Reino Unido, detectaram uma
prevalncia de esofagite erosiva em 32% dos doentes submetidos a exame endosc-
pico no ambulatrio, que apresentavam como sintoma dominante a azia. Tambm
Achem et al. verificaram a existncia de esofagite erosiva em 29% dos doentes ava-
liados por sintomatologia suspeita de DRGE.
Pode dizer-se, em concluso, que 1/3 1/2 dos doentes com sintomas de DRGE evi-
denciam leses de esofagite (eroses ou ulceraes) quando submetidos a exame
endoscpico. A taxa de prevalncia aumenta com a idade.
3. FACTORES DE RISCO
Neste item, vamos sumariar os dados actuais sobre os factores de risco da DRGE,
sublinhando a evidncia existente, e as concepes ainda questionveis.
Hrnia hiatal
de 5 por 1000 a prevalncia estimada de hrnia hiatal na populao global. No h
um claro predomnio de sexo, demonstrando os estudos radiogrficos que 50% dos
doentes com mais de 50 anos de idade, tm hrnia hiatal.
A presena de hrnia hiatal aumenta o risco de DRGE por vrias razes: (1) diminui-
o da clearance esofgica do cido; (2) diminuio da aco esfincteriana do diafrag-
ma crural na juno esofago-gstrica; (3)aumento do refluxo do contedo gastroduo-
denal para o esfago.
H evidncia epidemiolgica que suporta a convico de que a hrnia hiatal constitui
um importante factor de risco. De facto, 50-60% dos doentes com hrnia do hiato dia-
fragmtico desenvolvem esofagite por refluxo, e mais de 90% dos doentes com eso-
fagite endoscpica tm hrnia hiatal. Segundo Sontag et al., esta constitui o mais
importante factor de predio de frequncia do refluxo, tempo de contacto com o
cido e esofagite.
A dimenso da hrnia hiatal parece estar relacionada com o risco de desenvolvimen-
to da DRGE. Vrios estudos evidenciaram que a azia e a regurgitao so mais comuns
em doentes com hrnia hiatal > 5 cm. Quanto maior a hrnia, menor a presso de
repouso do esfincter esofgico inferior (EEI), a amplitude das contraces no esfago
distal e a clearance esofgica do cido, e maior o tempo de exposio esofgica ao
cido.
Obesidade
Ainda no existe evidncia indiscutvel quanto ao papel da obesidade como factor de
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
35
risco da DRGE. E se esse risco existe, est relacionado com o gradiente de presso
gastroesofgico, com o esvaziamento esofgico e gstrico, ou com factores anatmi-
cos como a hrnia hiatal?
O conceito de que a DRGE mais frequentemente observada em doentes obesos, e de
que a perda de peso no obeso melhora a DRGE, amplamente aceite quando se ana-
lisa a patofisiologia desta doena. No entanto, uma anlise criteriosa dos dados dispo-
nveis revela profundas contradies entre os estudos realizados neste mbito, pelo que
importante continuar a pesquisa cientfica no tocante relao obesidade/DRGE.
lcool
Em contraste com a correlao tnue entre obesidade e DRGE, existe evidncia mais
consistente correlacionando o lcool com esta doena.
De facto, vrios estudos evidenciaram que o lcool inibe a presso no EEI, diminui a
normal capacidade de esvaziamento esofgico e diminui a secreo salivar. Por outro
lado, o etanol estimula a secreo cida do estmago e a libertao de gastrina.
Tabaco
Est demonstrado que o consumo de tabaco determina diminuio da presso do EEI
e aumenta os episdios de refluxo gastro-esofgico. Por outro lado, nos fumadores
crnicos existe reduo da funo salivar, contribuindo para o enfraquecimento da
funo de clearance esofgica, sendo ainda de aceitar a hiptese do efeito irritati-
vo do fumo do tabaco na mucosa esofgica.
Intubao naso-gstrica
A sonda nasogstrica pode determinar refluxo gastro-esogico, sobretudo nas seguin-
tes condies: doente em supinao, volume elevado de cido no estmago (>300 ml)
e intubao prolongada (>72 horas).
Frmacos
Est documentada uma aco potencialmente deletria de alguns frmacos no mbi-
to da DRGE. Esses frmacos actuariam por mecanismos variados: alterao na pres-
so do EEI, interferncia na motilidade esofgica ou no esvaziamento gstrico e aco
directa custica na mucosa esofgica.
Existe evidncia clara de que a teofilina diminui a presso no EEI e aumenta a secre-
o cida, podendo agravar as manifestaes de DRGE. A cafena teria o mesmo efei-
to, ainda que mais atenuado. Alguns bloqueadores dos canais do clcio, designada-
mente a nifedipina, devem ser evitados em doentes com DRGE, bem como os anti-
colinrgicos. Deve ser prudente a prescrio, nestes doentes, de benzodiazepinas e
de AINEs.
Gravidez
O refluxo gastro-esofgico provavelmente a situao gastro-enterolgica mais fre-
Doenas do Aparelho Digestivo
36
quentemente associada gravidez. Resulta essencialmente dos efeitos da progeste-
rona no EEI, cuja tonicidade diminui. Contrariamente a uma convico h longos anos
perfilhada, reconhece-se actualmente que o incremento da presso abdominal pelo
aumento do tero no constitui papel importante na gnese dos sintomas de refluxo
gastro-esofgico associados gravidez.
Esclerodermia
Em quase 90% dos doentes com esta enfermidade do tecido conectivo existem ano-
malias esofgicas, traduzidas na diminuio ou ausncia de peristalse nos 2/3 distais
do esfago e na reduo da presso no EEI. Estas alteraes, que determinam uma
falncia no processo de esvaziamento esofgico, condicionam quadros mais ou menos
severos de DRGE.
Sindrome de Zollinger-Ellison
Inicialmente pensou-se que a hipergastrinmia tpica desta sndrome, induziria aumen-
to da presso do EEI, pelo que a DRGE seria uma raridade. Com o volver dos anos e
a experincia acumulada, verificou-se que era elevada a incidncia de DRGE na sn-
drome de Z-E, apontando-se como factor primordial a hipersecreo cida gstrica.
Recentemente verificou-se que a gastrina pode incrementar a frequncia de relaxa-
mentos transitrios do EEI.
Atraso no esvaziamento gstrico
O atraso no esvaziamento gstrico representa um factor de risco da DRGE, ou esta
afeco condiciona hipocinsia gstrica? O esvaziamento gstrico retardado reflecte
meramente uma manifestao de uma ampla desordem motora que envolve tambm
a DRGE? Ser que o esvaziamento gstrico lento protege contra a esofagite por reflu-
xo? H frmacos ou condies mdicas associadas a atraso do esvaziamento gstri-
co, que impliquem risco aumentado de DRGE? Estas questes ainda no se encontram
cabalmente respondidas
De facto, a literatura mdica contm evidncia que suporta ou refuta a associao
entre atraso de esvaziamento e DRGE. Existem outros estudos que suportam o con-
ceito da existncia de uma disfuno autonmica primria que culminaria num defi-
ciente esvaziamento esofgico e gstrico. So necessrios mais estudos nesta rea,
com contornos ainda nebulosos.
Helicobacter Pylori
Vrios estudos analisaram a possvel relao entre a infeco por esta bactria e a
DRGE. Embora a maioria dos trabalhos sustente que no existe associao do H. pylo-
ri com a DRGE, alguns autores, como Vicari et al., opinam que este microorganismo
poder induzir ou agravar quadros de DRGE, por vrias razes: (1) aumento do dbi-
to cido, (2) inflamao da zona crdica, estimulando os relaxamentos transitrios do
EEI; (3) agresso da mucosa esofgica por citotoxinas libertadas pelo H. pylori, e (4)
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
37
atraso no esvaziamento gstrico, consequncia da gastrite provocada pela bactria.
Pelo contrrio, h evidncia experimental e epidemiolgica que suporta um efeito pro-
tector do H. pylori. Estudos epidemiolgicos demonstram que quando so elevadas
as taxas de infeco pelo H. pylori Cag A+ (por ex. na China), baixa a corresponden-
te incidncia de esofagite (<5%). Alm disso, as complicaes da DRGE, designada-
mente o Barrett e o adenocarcinoma esofgico, so significativamente mais comuns
em indivduos da raa branca, em comparao com indivduos de raa negra ou asi-
tica, apesar da maior prevalncia do H. pylori na sia. O H. pylori conferiria proteco
contra a DRGE porque: (1) a infeco Hp induz diminuio da acidez gstrica pela liber-
tao de amnia e (2) a infeco Hp, especialmente com estirpes Cag A+, pode indu-
zir quadros severos de gastrite no corpo do estmago, condicionando hipocloridria.
De facto, alguns autores verificaram aumento na incidncia de DRGE anos aps a erra-
dicao do H. pylori (Labenz et al). A questo da correlao entre a infeco Hp e a
DRGE continua por esclarecer, pelo que se justificam mais trabalhos cientficos nesta
rea.
4. PATOFISIOLOGIA
A DRGE uma doena cido-pptica ou uma perturbao motora do esfago? Na rea-
lidade, o cido clordrico o principal agente agressor e o responsvel pelas leses
da mucosa esofgica na doena de refluxo. Contudo, a secreo cida gstrica nor-
mal na maioria dos doentes com DRGE. A razo porque o suco gstrico atinge o es-
fago, radica numa anomalia motora do esfincter esofgico inferior (EEI). Por outro
lado, alteraes na peristalse esofgica, quando existem, possibilitam que o cido clo-
rdrico e outros agentes agressivos permaneam no esfago por longos perodos de
tempo, induzindo leses da mucosa. Deste modo, ainda que o cido clordrico seja
de facto o factor mais importante na agresso esofgica, as anomalias motoras do EEI
e do esfago so factores etiolgicos primrios e fundamentais na compreenso da
fisiopatologia da DRGE. Est demonstrado, por outro lado, que uma diminuio da
resistncia da mucosa esofgica pode contribuir, nalguns casos de forma significativa,
para o desenvolvimento do processo lesional que caracteriza a DRGE. Nestes termos,
a perspectiva da patofisiologia desta doena deve ser encarada em duas vertentes:
em primeiro lugar, essencial analisar o comportamento da barreira anti-refluxo e dos
mecanismos de clearance esofgica; e em segundo lugar, importa reflectir sobre o
papel desempenhado pela resistncia tissular da parede esofgica.
Doenas do Aparelho Digestivo
38
A BARREIRA ANTI-REFLUXO E CLEARANCE ESOFGICA
1. Barreira anti-refluxo
Em condies normais, existe uma barreira funcional e anatmica que impede o reflu-
xo do contedo gstrico para o esfago. Essa barreira integrada pelos seguintes
componentes:
-Esfincter esofgico inferior (EEI)
-Compresso do EEI pelo diagrama crural
-Segmento do esfago abdominal
-Configurao anatmica do crdia gstrico (ngulo de His)
EEI um segmento do esfago distal, com cerca de 3-4 cm de comprimento, com uma
presso normal em repouso de 10-30 mmHg relativamente presso intragstrica.
Essa presso do EEI generosa, na medida em que uma presso mnima basal de 5-
10 mmHg usualmente previne o refluxo. o componente mais importante da barreira
anti-refluxo, sendo capaz de manter a competncia gastro-esofgica mesmo se com-
pletamente deslocado do diafragma por hrnia hiatal. Os 2 cm distais deste esfincter
localizam-se na cavidade abdominal, circunstncia que favorece a manuteno da
competncia gastro-esofgica.
O EEI mantm uma zona de alta presso por contraco tnica mediada por mecanis-
mos miognicos e neurognicos. No homem, o principal mecanismo parece ser de ori-
gem neurognica, com mediao por nervos colinrgicos, uma vez que a atropina
reduz em 70% a presso basal do EEI. O tnus miognico resulta da libertao de cl-
cio. H considervel variao diurna da presso basal do esfincter, encontrando-se os
valores mais baixos aps as refeies, e os mais elevados durante a noite. O EEI
influenciado por vrios peptdeos e hormonas em circulao, por alimentos, sobretu-
do gorduras, e por frmacos.
O EEI encontra-se rodeado pelo pilar direito do diafragma e ancorado pelo ligamento
freno-esofgico. Este arranjo anatmico importante para o funcionamento da barrei-
ra anti-refluxo. O diafragma crural tem uma presso basal de 6 mmHg. A sua contrac-
o, designadamente durante a respirao, impe uma presso rtmica de 5-10 mmHg
sobre a presso intrnseca do EEI. Alm disso, a contraco do diafragma crural
aumenta tambm a presso na juno gastro-esofgica durante o esforo de defeco
ou na compresso abdominal.
A entrada oblqua do esfago no estmago cria uma angulao aguda na juno eso-
fago-gstrica, designada por ngulo de His. Este ngulo determina um efeito de vl-
vula que contribui para a competncia gastro-esofgica.
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
39
2. Falncia da barreira anti-refluxo
A falncia da barreira anti-refluxo pode ser condicionada por trs factores: disfuno
do EEI, traduzida em relaxamentos transitrios do esfincter; hipotonia crnica do EEI;
e disrupo anatmica da juno gastro-esofgica (hrnia hiatal).
Disfuno do EEI
o principal mecanismo que est na base do refluxo gastro-esofgico, consubstan-
ciado no relaxamento transitrio do EEI. A proporo de episdios de refluxo atribu-
veis a relaxamentos transitrios de 60-80%, consoante as sries estudadas. Nem
sempre esses relaxamentos transitrios do EEI culminam em refluxo. No indivduo nor-
mal, cerca de 40-60% desses relaxamentos so acompanhados por refluxo, mas essa
percentagem sobe para 60-70% nos doentes com DRGE, desconhecendo-se a razo.
Por definio, os relaxamentos transitrios do EEI no so induzidos pela deglutio.
Tm longa durao (10-45 segundos) e o seu incio associa-se frequentemente a
ondas de presso simultneas no esfago distal. Pode coexistir tambm inibio da
peristalse primria do esfago. Mas o evento mais importante durante o relaxamento
transitrio do EEI a inibio do diafragma crural, essencial para que ocorra refluxo.
O ritmo de relaxamentos transitrios do EEI influenciado por vrios factores. O est-
mulo mais importante parece ser a distenso gstrica, designadamente por refeies.
A importncia de alimentos especficos (gorduras, lcool, caf, chocolate e cebola)
ainda no foi clarificada. A fermentao clica de cidos gordos de cadeia curta um
outro estmulo comprovado. Por outro lado, identificaram-se factores que inibem os
relaxamentos transitrios do EEI: postura em supinao, sono e anestesia.
A evidncia actual aponta para uma mediao neurognica, atravs de vias vagais, no
desencadeamento dos relaxamentos transitrios. A distenso gstrica estimularia
mecano-receptores no estmago proximal, particularmente em torno do crdia, com
envio de sinais por via vagal para centros nervosos localizados na regio dos ncleos
do vago, tendo como sequncia a ocorrncia intermitente de um complexo estrutura-
do de eventos motores: relaxamento do EEI, inibio do diafragma rural e contraces
no corpo do esfago.
Nos ltimos anos aconteceram importantes avanos na compreenso da neuro-farma-
cologia dos relaxamentos transitrios do EEI, que podero propiciar, no futuro, a pos-
sibilidade de controlar terapeuticamente, por via farmacolgica, esses eventos. De
facto, foram identificados vrios agentes que reduzem o ritmo dos relaxamentos tran-
sitrios: antagonistas da colecistoquinina-A, agentes anticolinrgicos, morfina, soma-
tostatina, inibidores da sntese do oxido ntrico, antagonistas da 5-hidroxitriptamina
e agonistas do cido gama-aminobutrico (GABA).
Hipotonia crnica do EEI
Durante algum tempo pensou-se que o refluxo gastro-esofgico resultava de um dfi-
ce crnico da presso do EEI. Presentemente sabe-se que a maioria dos doentes com
Doenas do Aparelho Digestivo
40
DRGE tm uma presso basal do EEI dentro dos limites normais. S uma pequena
fraco desses doentes, usualmente com esofagite severa, apresentam presses
basais do EEI sistematicamente abaixo dos limites da normalidade. Na prtica, por-
tanto, pouco comum o refluxo por baixa ou ausente presso basal do EEI.
So ainda desconhecidos os mecanismos que determinam a hipotonia crnica do EEI.
A presena de hrnia do hiato pode ser um factor agravante. Alguns casos podem ser
devidos a embotamento dos estmulos colinrgicos para o EEI.
Hrnia do hiato
Como j foi referido no captulo sobre factores de risco, a hrnia do hiato enfraque-
ce a funo do EEI, assim como a clearance esofgica. De facto a hrnia hiatal pode
condicionar: hipotonia e encurtamento do EEI, perda do suporte diafragmtico do
esfincter, estiramento e rotura do ligamento freno-esofgico, alargamento do hiato
diafragmtico, perda do segmento intra-abdominal do EEI e reteno de fluidos no
saco herniado.
Alm disso, a hrnia hiatal compromete a clearance do cido pelo esfago porque
h uma tendncia aumentada para o refluxo ocorrer a partir do saco herniado duran-
te o relaxamento do esfincter pela deglutio.
3. Clearance esofgica
Aps um episdio de refluxo, o perodo em que a mucosa esofgica persiste com um
pH<4 definido como tempo de clearance do cido. Esta clearance inicia-se com o
esvaziamento do fluido refluido por aco da peristalse e completada pela neutra-
lizao do cido residual pela saliva deglutida. Como durante o sono a salivao vir-
tualmente cessa, o mecanismo da clearance pode ficar comprometido nesse perodo
nocturno.
Dois mecanismos podem prolongar a remoo do cido do esfago: retardamento no
esvaziamento esofgico e diminuio da funo salivar.
Quanto ao atraso no esvaziamento do esfago, motivado por dois factores: disfun-
o peristltica e rerefluxo associado hrnia hiatal.
A disfuno peristltica traduz-se essencialmente por contraces ineficazes ou por
contraces hipotensivas (< 30 mmg) que esvaziam incompletamente o esfago. Essa
disfuno tanto mais grave, quanto maior for a severidade da esofagite.
Recentemente, tem sido aplicada a esta disfuno peristltica a designao de moti-
lidade esofgica ineficaz, definida pela ocorrncia de ?30% de contraces ineficazes
(amplitude <30 mmHg ou aperistalse) num teste de 10 degluties. Os doen-
tes com motilidade esofgica ineficaz exibem tempos de exposio do esfago ao
cido e tempos de clearance esofgica significativamente superiores aos indivduos
com motilidade esofgica normal.
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
41
Discute-se se a disfuno peristltica associada esofagite pptica um processo
reversvel. Provavelmente ser reversvel, excepto se ocorrem extensos processos de
fibrose. No entanto, nalguns estudos verificou-se que essas perturbaes da motilida-
de no desapareceram aps cicatrizao da esofagite, ou aps cirurgia anti-
refluxo.
Como j salientamos, a hrnia do hiato tambm compromete o esvaziamento esof-
gico. De facto, alguns estudos tm revelado fenmenos de rerefluxo a partir do saco
herniado durante a deglutio. Por outro lado, a presena de hrnia hiatal pode com-
prometer os mecanismos de defesa do diafragma crural.
A reduo do fluxo salivar ou a diminuio da sua capacidade de neutralizao,
podem comprometer a clearance do cido. Como vimos, a secreo salivar interrom-
pida durante o sono, existindo nesse perodo um prolongamento do tempo de esva-
ziamento do cido. Similarmente, a xerostomia crnica, associa-se a tempos prolon-
gados de exposio do esfago ao cido, com consequente esofagite. Tambm inte-
ressante sublinhar a ocorrncia de diminuio da salivao nos fumadores, mediada
por um efeito anticolinrgico. O bicarbonato o principal componente da saliva que
intervm na neutralizao do cido clordrico. A saliva contm tambm vrios factores
de crescimento que poderiam exercer um potencial efeito na reparao de leses da
mucosa. Esta hiptese ainda no foi cabalmente demonstrada
B RESISTNCIA TISSULAR
O refluxo gastro-esofgico uma ocorrncia quase universal e diria, mesmo em indiv-
duos assintomticos. Contudo, s uma percentagem da populao desenvolve DRGE.
A barreira anti-refluxo o primeiro e melhor estudado componente da defesa contra
a agresso da mucosa esofgica pelo contedo gstrico. Esta barreira limita a frequn-
cia e o volume do contacto entre o fluido que reflui e o epitlio esofgico.
Quando esta barreira falha , entra em jogo o segundo mecanismo de defesa, desig-
nado de clearance luminal esofgica, que limita a durao de contacto entre o mate-
rial refluido e a mucosa esofgica. Essa clearance depende, como vimos, da peristal-
se esofgica, da gravidade e do fluxo salivar. No entanto, essa remoo do cido do
esfago no instantnea, requerendo usualmente 3-5 minutos para que o pH do
esfago normalize. Alm disso, durante a fase do sono, os mecanismos de neutrali-
zao do cido encontram-se comprometidos.
Por esta razo, existe uma terceira linha de defesa para manter a sade e a integri-
dade do epitlio esofgico: a resistncia tissular. Esta resistncia inclui os factores da
mucosa destinados a limitar os danos durante o contacto do material refluido com o
epitlio esofgico.
Doenas do Aparelho Digestivo
42
De acordo com Roy Orlando (2000), os potenciais componentes da resistncia tissu-
lar contra a agresso cida no esfago so:
Defesa pr-epitelial
Barreira de muco/bicarbonato
Defesa epitelial
Membranas celulares
Junes intercelulares
Transplante epitelial
Tampes intra e extra-celulares
Replicao celular
Defesa ps-epitelial
Fluxo sanguneo
Equilbrio cido-bsico nos tecidos
Segundo este autor, os dados existentes relativamente defesa pr-epitelial indicam
que esta barreira tem uma capacidade de proteco limitada, ao contrrio do que
sucede no estmago e no duodeno, o que explicaria a necessidade de um controlo
cido muito mais profundo na DRGE.
Os componentes estruturais e funcionais da segunda linha de proteco a defesa
epitelial tm um papel fulcral. Se ocorre falncia desta barreira, desencadeia-se uma
sequncia de fenmenos que culminam nas leses tpicas da DRGE. Basicamente, a
patognese da DRGE envolve um ataque directo e a leso das junes intercelulares
pela secreo cloridro-pptica gstrica, indiscutivelmente o factor mais nocivo do con-
tedo gstrico refludo. A leso dessas junes aumenta a permeabilidade paracelu-
lar, com consequente difuso e acidificao dos espaos intercelulares pelos hidroge-
nies (H
+
). Esta acidificao rapidamente se estende ao citosol celular, sendo este o
evento crucial que determina o edema celular e a necrose.
Se, como defendem Roy Orlando e outros autores, o cido lesa inicialmente as jun-
es intercelulares e aumenta a sua permeabilidade, deduz-se que a ocorrncia de
azia nas formas no erosivas de DRGE reflecte a maior acessibilidade do H
+
luminal
aos nervos aferentes (sensoriais) do epitlio esofgico, localizados nos espaos inter-
celulares logo abaixo das camadas celulares superficiais. Estas observaes contra-
riam a noo de hipersensibilidade visceral esofgica como causa do esfago cido-
sensvel em doentes com DRGE no erosiva. A designao de hipersensibilidade vis-
ceral inapropriada porque as terminaes nervosas sensoriais em doentes com
DRGE no erosiva respondem apropriadamente a nveis excessivos de acidificao
intercelular. Alm disso, se o cido inicialmente lesa as junes inter-epiteliais, est
criada uma condio que justifica a progresso de formas de DRGE no erosivas, para
formas erosivas, em consequncia de exposies luminais repetidas ao H
+
.
Tradicionalmente, a DRGE tem sido considerada essencialmente uma doena motora.
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
43
No entanto, em face das consideraes expendidas, pode afirmar-se que a DRGE tam-
bm resulta, pelo menos em parte, de um enfraquecimento da resistncia tissular.
A evidncia mais relevante para esta asseverao, radica na observao de que uma
percentagem significativa de doentes com DRGE no erosiva (at 50%), e cerca de
30% dos que apresentam quadros erosivos, tm tempos de contacto do cido no es-
fago dentro dos padres normais, mediante avaliao por pH-metria das 24 horas.
Dado que estes tempos de contacto normais significam que os mecanismos da bar-
reira anti-refluxo e da clearance luminal funcionam normalmente, as leses de esofa-
gite nesses doentes resultam, ou de uma excessiva agressividade do contedo gstri-
co refludo, o que at agora no foi comprovado, ou de uma deficincia na resistn-
cia tissular. Este ltimos mecanismo est hoje claramente demonstrado.
Doenas do Aparelho Digestivo
44
A - MECANISMOS DE DEFESA CONTRA A AGRESSO CLORIDRO-PPTICA
1. Barreira anti-refluxo
2. Clearance esofgica
Peristalse
Funo salivar
Gravidade
3. Resistncia tissular
B - MECANISMOS PATOGNICOS DA DRGE
1. Falncia da barreira anti-refluxo
Disfuno do EEI (relaxamento transitrio)
Hipotonia crnica do EEI
Disrupo anatmica da juno
esfago-gstrica (hrnia hiatal)
Limita a frequncia e o volume do
contacto entre H
+
e o epitlio
esofgico
SINOPSE DA PATOFISIOLOGIA DA DRGE
Limita a durao do contacto entre os
H
+
e o epitlio esofgico
Mantm a integridade do
epitlio esofgico
EEI
Diafragma crural
ngulo de His
2. Clearance esofgica
Atraso no esvaziamento esofgico
Diminuio da funo salivar
3. Resistncia tissular
Falncia na defesa pr-epitelial,
epitelial e ps-epitelial
5. CLNICA E HISTRIA NATURAL
extraordinariamente variegado o espectro clnico da DRGE, circunstncia que dificul-
ta uma avaliao rigorosa da sua epidemiologia e histria natural, e tambm do seu
diagnstico e teraputica.
De facto, a DRGE pode traduzir-se por queixas tpicas, por sintomas e sinais atpicos
e ainda por complicaes variadas. Alm disso, h doentes que podem apresentar
leses na mucosa esofgica, com sintomas discretos ou mesmo ausentes. Por outro
lado, h muitos doentes que tm sintomas caractersticos de DRGE, sem evidncia de
alteraes morfolgicas no esfago. Finalmente, h doentes com queixas de DRGE,
sem leses esofgicas nem alteraes nos registos da pH-metria das 24 horas.
Vamos procurar analisar, sequencialmente, os sintomas tpicos, as complicaes e a
histria natural da DRGE.
A. MANIFESTAES CLNICAS DA DRGE
Azia
a manifestao mais comum da DRGE ocorrendo frequentemente aps a refeio,
nomeadamente quando esta abundante e rica em gorduras.
No h correlao entre a frequncia e a severidade da azia, e o grau das leses da
mucosa esofgica detectado no exame endoscpico.
So factores precipitantes de azia (e de outros sintomas de DRGE):
- Alimentos: lcool, carminativos, chocolate, citrinos, caf, bebidas com cola, gor-
duras, tomate.
- Estilo de vida/actividades: flexo do tronco (por ex. trabalhador rural), ciclismo,
reclinar/deitar aps refeies, vesturio apertado.
- Drogas e frmacos: lcool, tabaco ou nicotina, antagonistas -adrenrgicos, anti-
colinrgicos, agonistas beta-adrenrgicos, inibidores dos canais de clcio, nitra-
tos, diazepam, progesterona, relaxantes do msculo liso.
- Condies mdicas: gravidez, diabetes mellitus, esclerodermia, sindrome de
Raynaud, sndrome Crest, sndrome de Sjgren, sicca, xerostomia,
Zollinger-Ellison, sondagem naso-gstrica.
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
45
SINTOMAS SINAIS
Azia Hematemeses
Regurgitao Anemia ferropnica
Odinofagia Sangue oculto nas fezes
Dor torcica no cardaca
Hipersalivao
Regurgitao
a retropulso sem esforo do contedo gstrico para a cavidade oral, sem nu-
sea, nsia de vmito ou contraco abdominal. Frequentemente ocorre com mano-
bras que aumentam a presso intra-abdominal. O material regurgitado tem um
sabor amargo ou cido.
Disfagia
Queixas disfgicas podem ocorrer em muitos doentes com DRGE (at 40%), testemu-
nhando a existncia de estenose pptica dismotilidade esofgica, anel de Schatzki ou
mesmo carcinoma.
Odinofagia
A odinofagia, ou deglutio dolorosa, pode ser induzida por esofagite erosiva ou lce-
ra esofgica. No entanto, h duas outras causas frequentes: a esofagite infecciosa e
a esofagite iatrognica.
Esofagite infecciosa: Candida, Citomegalovrus, Herpes simplex, HIV (agentes mais
comuns).
Esofagite iatrognica: antibiticos (doxi-tetraciclina, clindamicina), cido ascrbico,
sulfato ferroso, nifedipina, AINEs, CKl quinidina, teofilina, alen-
dronato (Fosamax) e zidovudina (AZT).
Dor torcica
Segundo a maioria dos autores, a DRGE contribui para 50% das dores torcicas de
origem no cardaca. A dor resultaria directamente da aco agressiva do cido reflu-
do, ou de dismotilidade esofgica induzida pelo cido.
Hipersalivao
Podem acontecer episdios de hipersalivao em doentes com DRGE, mediada pela
presena de cido no esfago que estimula um reflexo vagal esofagosalivar. A sialor-
reia no amarga, ao contrrio da regurgitao, tendo muitas vezes um sabor salino.
Hematemeses
A esofagite pptica causa de 2-6% de episdios de hemorragia digestiva alta. Quatro
factores predispem para hemorragia esofgica: Barrett, ingesto de AINEs, condies
reumatolgicas e diabetes mellitus.
Anemia ferropnica
Acontece sobretudo quando existem as chamadas leses de Cameron, ou seja, ero-
ses detectadas em hrnias do hiato, que resultariam de fenmenos de isqumia,
trauma mecnico ou agresso pelo cido clordrico.
Doenas do Aparelho Digestivo
46
Sangue oculto nas fezes
A esofagite pptica pode originar, com certa frequncia, o aparecimento de sangue
oculto nas fezes. Alguns autores descreveram a ocorrncia de testes positivos em mais
de um quarto dos doentes com esfago de Barrett.
B. COMPLICAES DA DRGE
1. Complicaes Esofgicas
Ulcerao
Anel de Schatzki
Estenose
Barrett ? Adenocarcinoma
Ulcerao
A prevalncia de lcera pptica do esfago na DRGE de cerca de 5%.
A odinofagia a queixa clnica mais comum, mas o doente pode referir tambm dis-
fagia, dor torcica e anorexia.
Em doentes com DRGE complicada de Barrett, deve verificar-se se a lcera est localiza-
da neste epitlio. Estas lceras de Barrett so por vezes resistentes teraputica mdi-
ca, e podem constituir um factor de risco independente para displasia ou cancro.
A lcera pptica do esfago deve ser biopsada e eventualmente submetida a outros
estudos no contexto do exame endoscpico: cultura para vrus, fungos, micobactrias
atpicas ou outros agentes patognicos.
De facto, a lcera da DRGE pode ser macroscpicamente indistinguivel de: infeces
virais (citomegalovrus, Herpes simplex, HIV), bacterianas (tuberculose, micobactrias
atpicas) e fngicas, lceras mecnicas (sndrome de Mallory-Weiss e lcera de
Cameron), lceras iatrognicas (intubao nasogstrica, escleroterpia ou laqueao
de varizes, medicamentos, radioterpia), lceras neoplsicas benignas ou malignas, e
ulceras idiopticas (pnfigo, epidermlise bolhosa distrfica, doena de Crohn, sarcoi-
dose e doena de Behet).
Anel de Schatzki
O anel de Schatzki ocorre na juno entre o epitlio escamoso esofgico e a mucosa
cilndrica gstrica. O anel usualmente fino, medindo menos de 5 mm no exame
radiolgico. A invaginao pronunciada deste anel para o lmen esofgico pode ori-
ginar disfagia.
Desconhece-se a etiologia do anel de Schatzki. Pode tratar-se de uma variante cong-
nita, no entanto h alguma evidncia de uma maior prevalncia de DRGE em doentes
com este anel.
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
47
Estenose pptica
Cerca de 10% dos doentes em tratamento mdico por DRGE desenvolvem estenose
esofgica. A incidncia desta complicao aumenta com a idade, e mais frequente
no sexo masculino.
A patognese da estenose pptica parece ser multifactorial. Alguns dados foram apu-
rados relativamente aos doentes com DRGE complicada de estenose: (1) so menos
sensveis ao cido intra-esofgico do que os doentes sem estenose; (2) apresentam
uma presso basal do EEI mais baixa do que os doentes sem estenose; (3) mais
frequente a associao com hrnia hiatal; (4) evidenciam peristalse esofgica de
menor amplitude e frequncia, circunstncia que compromete a clearance do cido.
Cerca de 70% dos doentes com DRGE e estenose pptica apresentam uma histria
passada de sintomas da doena. Os restantes 30% no evidenciam queixas no pas-
sado sugestivas de DRGE. Este fenmeno tem sido atribudo menor sensibilidade ao
cido no esfago, como j referimos. A maioria dos doentes apresentam disfagia para
slidos, podendo ocorrer odinofagia e impactao alimentar.
Cerca de 70% das estenoses do esfago so consequncia da DRGE. O exame priori-
trio de diagnstico a endoscopia complementada com bipsias. Se a estenose
cerrada e no permite a passagem do endoscpio, pertinente a realizao de um
estudo baritado do esfago.
O diagnostico diferencial das estenoses ppticas do esfago faz-se com as seguintes
situaes: estenose maligna, estenose custica, estenose infecciosa (sifilis, tuberculo-
se, citomegalovirus, Herpes simplex, Candida), estenose iatrognica (radioterpia,
teraputica fotodinmica, escleroterpia ou laqueao esofgica, ps-operatria,
ingesto de frmacos, intubao nasogstrica crnica), e estenose idioptica (epider-
mlise bolhosa distrfica, tilose, pnfigo, esclerodermia, membranas esofgicas, eso-
fagite eosinoflica, doena de Crohn, sarcoidose).
Epitlio de Barrett
A. DEFINIO E DIAGNSTICO
O esfago de Barrett uma condio em que o epitlio escamoso estratificado que
normalmente tapeta o esfago distal, substitudo por um epitlio cilndrico anormal.
Na maioria ou possivelmente em todos os casos, o Barrett uma sequela da DRGE.
No exame histolgico o epitlio cilndrico que recobre o esfago distal uma forma
incompleta de metaplasia intestinal, podendo ter caractersticas de epitlio do intes-
tino delgado, do clon ou do estmago.
O diagnstico de esfago de Barrett suspeitado no exame endoscpico, ao obser-
var-se uma mucosa anormal tapetando o esfago distal, de colorao avermelhada e
textura aveludada. O diagnstico confirmado por bipsias, que revelam metaplasia
intestinal especializada.
No entanto, tem havido recentemente intensa controvrsia relativamente aos critrios
Doenas do Aparelho Digestivo
48
de diagnstico do Barrett por duas razes: (1) difcil identificar o preciso local onde
o esfago termina e comea o estmago (isto , a juno anatmica esofago-gstri-
ca); e (2) em indivduos normais pode observar-se um curto segmento do esfago dis-
tal tapetado por epitlio cilndrico tipo gstrico (macroscpicamente indistinguvel do
epitlio metaplsico do esfago de Barrett).
Estes dois factos tornam difcil para o endoscopista determinar se segmentos curtos
do epitlio cilndrico pertencem de facto ao esfago ou ao estmago (crdia gstri-
co), e se o epitlio cilndrico anormal seja qual for a sua localizao.
No momento actual, usualmente fcil diagnosticar segmentos longos de esfago
tapetados por epitlio de Barrett. Nos segmentos curtos, a definio de Barrett conti-
nua controversa, tendo sido propostos recentemente dois tipos de classificao:
Classificao de Sharma et al
- Longo segmento de esfago de Barrett (metaplasia intestinal 3 cm)
- Curto segmento de esfago de Barrett (metaplasia intestinal < 3 cm)
- Metaplasia intestinal do crdia gstrico
Classificao de Spechler et al
- Esfago tapetado por epitlio cilndrico com metaplasia intestinal especializada
- Esfago tapetado por epitlio cilndrico sem metaplasia intestinal especializada
- Metaplasia intestinal especializada na juno esofago-gstrica
B. PATOGNESE
A evidncia actual sugere que h diferenas fundamentais entre as formas gstrica e
esofgica de metaplasia intestinal.
A primeira diferena reside no facto de existir uma estreita correlao entre a infeco
pelo Helicobacter pylori e a metaplasia intestinal gstrica, correlao que no se
observa no tocante metaplasia intestinal esofgica.
A segunda diferena situa-se na relao com a DRGE. Enquanto que esta doena o
maior factor de risco da metaplasia intestinal do esfago, no tem qualquer relao
com a metaplasia gstrica.
A terceira diferena tem a ver com o tipo morfolgico e histoqumico da metaplasia
intestinal nos dois orgos. No estmago predomina a metaplasia completa, tipo I. No
esfago, a metaplasia intestinal usualmente incompleta (tipo II ou III).
Finalmente, em estudos recentes por microscopia electrnica, concluiu-se que tambm
h diferenas entre as metaplasias esofgica e gstrica no que respeita ao padro de
colorao das citoqueratinas.
Se se aceita a premissa de que existem importantes diferenas na metaplasia intesti-
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
49
nal detectada no esfago e no estmago, ento importante sublinhar que ao serem
colhidas bipsias na regio da juno esofago-gstrica, importa saber se essas bi-
psias so colhidas no esfago distal ou no crdia gstrico.
C. CLNICA DO ESFAGO DE BARRETT
O esfago de Barrett tradicional usualmente detectado em adultos na idade mdia
ou idosos. A idade mdia na altura do diagnstico de 55 anos, aproximadamente.
Na maioria das sries predominam homens de raa branca. Por razes desconhecidas,
a raa negra habitualmente poupada.
A maioria dos doentes so observados inicialmente por queixas tpicas de DRGE. O
epitlio metapsico de Barrett no origina sintomas por si s, podendo mesmo ser
menos sensvel ao cido do que a mucosa escamosa normal.
Dentre os doentes submetidos a exame endoscpico por queixas de DRGE, o esfa-
go de Barrett tradicional (>3-5 cm de extenso) detectado em 10%, aproximadamen-
te. A prevalncia do Barrett est associada durao dos sintomas. Quanto mais anti-
gos estes forem, maior ser a prevalncia.
Muitos doentes com esfago de Barrett no apresentam sintomas, ou estes so dis-
cretos, no solicitando uma avaliao endoscpica. H dados que sugerem que mais
de 90% de indivduos com esfago de Barrett no procuram assistncia mdica por
sintomas esofgicos, e por isso a maioria dos casos no so identificados.
Os doentes que procuram assistncia mdica, tm usualmente formas severas de
DRGE, complicada de ulcerao, estenose e hemorragia. Pelo contrrio, os doentes
com segmento curto de Barrett, frequentemente no tm sintomas ou sinais de DRGE.
D. DRGE EM DOENTES COM BARRETT
Os doentes com esfago de Barrett tradicional evidenciam um certo nmero de ano-
malias fisiolgicas que podero contribuir para a severidade da DRGE:
- Secreo cida gstrica muitas vezes elevada;
- Frequncia aumentada de refluxo duodeno-gstrico (contedo gstrico refluido
mais custico);
- Frequente hipotenso marcada do EEI (maior predisposio para refluxo);
- Deficiente contractilidade esofgica (atraso na clearance do cido);
- Alguns doentes evidenciam menor sensibilidade ao cido (menor frequncia de
azia);
- Menor secreo salivar do factor epidrmico do crescimento, um peptideo que
acelera a cicatrizao da lcera pptica do esfago.
Estas anomalias que caracterizam o esfago de Barrett tradicional, no tm sido des-
critas em doentes com Barrett em segmento curto do esfago. Como j frisamos, mui-
tos destes doentes no tm sinais nem sintomas de DRGE.
Doenas do Aparelho Digestivo
50
E. RISCO DE CANCRO NO ESFAGO DE BARRETT
Nas ltimas duas dcadas, a frequncia do adenocarcinoma do esfago quase qua-
druplicou. Actualmente, nos Estados Unidos da Amrica, cerca de 50% dos cancros do
esfago so adenocarcinomas.
A DRGE e o esfago de Barrett so os maiores factores de risco do adenocarcinoma
esofgico. Uma recente meta-anlise de seis estudos prospectivos sugere que a inci-
dncia mdia anual de adenocarcinoma em doentes com Barrett, de 1%. O risco cal-
culado de malignizao do Barrett tradicional pelo menos 30 vezes maior do que o
da populao global.
O risco de malignizao do esfago em doentes com segmento curto de Barrett, ou
com metaplasia do crdia gstrico, ainda no est esclarecido.
F. DISPLASIA NO ESFAGO DE BARRETT
Na via da carcinognese iniciada na metaplasia intestinal do Barrett, a displasia a
leso histologica precursora do carcinoma. As alteraes displsicas so usualmente
classificadas de baixo ou de alto grau, em funo do grau de alteraes na morfolo-
gia nuclear e na arquitectura glandular.
O erro de amostragem na bipsia endoscpica um importante problema que limita
a utilidade da displasia como biomarcador de malignizao no epitlio de Barrett.
Para diminuir esse erro de amostragem, defendem alguns autores a realizao de ml-
tiplas bipsias endoscpicas nos protocolos de vigilncia dos doentes com esfago
de Barrett. No entanto, foi demonstrado que a utilizao de protocolos rgidos, com
bipsias em quatro quadrantes com intervalos de 2 cm, e utilizando o forceps jumbo,
tambm pode falhar.
Embora a displasia de alto grau seja considerada actualmente a leso precursora do
cancro invasivo, ainda se desconhece a sua histria natural. Alguns estudos sugerem
que a displasia de alto grau evolui rpida e frequentemente para a cancerizao. No
entanto, outros trabalhos evidenciam que este tipo de displasia pode persistir duran-
te anos, sem aparente progresso para carcinoma.
Outro factor que limita a utilidade do achado histolgico como biomarcador de malig-
nidade, a variao interoberservador na graduao da displasia do Barrett.
Tendo em conta estas limitaes da displasia como biomarcador de potencial cance-
rizao, tm sido estudadas outras alternativas, tendendo a melhorar as possibilida-
des de definio atempada de risco de malignizao no esfago de Barrett.
Os biomarcadores que tm sido ensaiados e propostos so os que constam no qua-
dro seguinte:
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
51
Apesar de resultados promissores obtidos sobretudo com o estudo das anomalias do
p53 e da citometria de fluxo, estes marcadores ainda no justificam a sua aplicao
rotineira na prtica clnica. Apesar das limitaes apontadas, o achado da displasia
continua a ser o biomarcador mais apropriado para a avaliao clnica dos doentes
com esfago de Barrett.
G. TCNICAS ENDOSCPICAS DE IDENTIFICAO DA DISPLASIA
Durante a vigilncia endoscpica de doentes com esfago de Barrett, o clnico usual-
mente apoia-se nos resultados das bipsias mltiplas para deteco de tumores ini-
ciais no epitlio metaplsico.
Para melhorar a acuidade da vigilncia endoscpica, vrias tcnicas tm sido propos-
tas no sentido de propiciar informao adicional que facilite a identificao de reas
de tecido anormal durante o exame endoscpico.
Esses novos avanos no diagnstico endoscpico, incluem as seguintes tcnicas: cro-
moendoscopia, endosonografia, tomografia de coerncia ptica e tcnicas de detec-
o de fluorescncia. As maiores expectativas situam-se nas duas ltimas modalida-
des de diagnstico endoscpico, ainda em fase experimental. Os ensaios preliminares
so muito promissores.
2. Complicaes extra-esofgicas da DRGE
A DRGE pode complicar-se de sintomas e sinais extra-esofgicos, que por vezes sur-
gem isoladamente, dificultando deste modo o diagnstico de base. So os chamados
quadros clnicos atpicos de apresentao da DRGE. No quadro que segue indicam-
se as principais situaes clnicas que podem ser consequncia da DRGE:
Doenas do Aparelho Digestivo
52
Ornitina descarboxilase
Antignio carcinoembrionrio
Anomalias do muco
Citometria de fluxo aneuploidia
Citometria de fluxo proliferao celular anormal
Anomalias cromossmicas
Oncogenes (c-Ha-ras, c-erb-B)
Genes de supresso tumoral (p53)
Factores reguladores do crescimento (EGF, TNF-, EGF-R)
Marcadores de proliferao celular (PCNA, Ki 67)
BIOMARCADORES DE MALIGNIDADE NO ESFAGO DE BARRETT
Infelizmente, tem sido difcil estabelecer uma relao directa entre os episdios de
refluxo gastro-esofgico e a maioria destas complicaes supra-esofgicas. Este dile-
ma complica-se por dois outros factores: (1) os doentes com suspeita de apresenta-
rem complicaes extra-esofgicas, no referem frequentemente queixas tpicas de
DRGE, designadamente azia e regurgitao, e muitas vezes no apresentam no exame
endoscpico leses tpicas de DRGE; (2) por outro lado, o doente pode ter simulta-
neamente duas enfermidades independentes.
Dois mecanismos tm sido postulados na explicao fisiopatolgica das complicaes
supra-esofgicas por refluxo cido: (1) um reflexo vagal despertado pelo cido reflu-
do, entre o corpo do esfago e o sistema broncopulmonar, induzindo constrio bron-
quiolar ou tosse; (2) microaspirao do contedo gstrico refludo, para as estruturas
supra-esofgicas e broncopulmonares, induzindo reaco inflamatria e/ou resposta
conrctil reactiva focalizada.
O diagnstico destas formas atpicas de apresentao da DRGE exige uma cuidada
historia clnica e a realizao de estudos complementares. A pH-metria das 24 horas
e a esofagoscopia so considerados exames nucleares. Recentemente tem sido advo-
gado tambm o teste teraputico com inibidores da bomba de protes, duas vezes
por dia, antes das refeies, durante 1-3 meses.
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
53
Rouquido
Tosse
Globus
Faringite
Otite
Laringite
Sinusite
Granuloma das cordas vocais
Estenose subgltica
Cancro da laringe
Asma
Bronquite
Bronquiectasia
Pneumonia por aspirao
Fibrose pulmonar idioptica
Halitose
Eroses dentrias
lceras / ardor na boca
Apneia do sono
FORO OTORRINOLARINGOLGICO
FORO PULMONAR
OUTROS
No quadro seguinte, apresenta-se uma proposta de abordagem de doentes com sus-
peita de complicaes extra-esofgicas da DRGE:
C HISTRIA NATURAL
A DRGE muito provavelmente uma enfermidade crnica, como a hipertenso arterial.
No entanto a medicao actualmente disponvel modificou a histria natural da DRGE.
Estudos controlados demonstraram inequivocamente que na ausncia de teraputica
de manuteno, um elevado nmero de doentes (at 85%) com DRGE erosiva apre-
sentam recada dentro de 6 meses, sendo a taxa de recorrncia tanto maior, quanto
mais severo for o grau de severidade da esofagite.
Em estudos de controlo a longo prazo, verificou-se que s numa minoria dos doen-
tes com DRGE erosiva, sem teraputica profilctica, ocorreu o desaparecimento dos
sintomas. Nos restantes, as queixas persistiram, episdica ou regularmente, e desen-
volveram-se, designadamente, complicaes de Barrett. A histria natural das formas
no erosivas de DRGE, sobrepe-se das formas erosivas, em termos de taxa de
No
No
No
No
Sim
IBP - Inibidores da bomba de protes.
Sim
pH-metria
das 24 horas
Sintomas tpicos de
refluxo G-E ?
Suspeita de complicao
extra-esofgica da DRGE
Prova teraputica com IBP *
Barret ou sintomas de alarme?
Sucesso ?
Intensificar teraputica de
manuteno da DRGE
No
Sim
Sim
pH-metria
das 24 horas
Teste
positovo ?
Teste
positovo ?
Endoscopia
Esofagite
ou Barret ?
Sim
No
Intensificar teraputica ou
considerar cirurgia
Considerar
outro
diagnstico
Doenas do Aparelho Digestivo
54
recorrncia. de sublinhar, porm, que s uma minoria dos doentes com DRGE no
erosiva, apresentam evoluo para quadros erosivos.
No se encontra ainda cabalmente esclarecida a histria natural dos doentes com es-
fago cido-sensvel.
6 . DIAGNSTICO
O diagnstico da DRGE baseia-se na clnica e em exames complementares.
A realizao de exames complementares essencial, sobretudo quando o doente no
apresenta queixas tpicas de azia e regurgitao. De facto, importa recordar que a
DRGE evidencia um amplo espectro clnico: sintomas sem leses da mucosa esofgi-
ca, sintomas com leses, leses sem sintomas, ou mesmo, ausncia de sintomas e de
leses. Alm disso, os sintomas podem ser tpicos ou atpicos. E por ltimo, no h
correlao entre a severidade dos sintomas e o grau lesional da mucosa esofgica.
Os testes de diagnstico da DRGE podem dividir-se em trs grupos: (a) os que com-
provam a existncia de refluxo e sua correlao com os sintomas; (b) os que estudam
o grau e a severidade das leses da mucosa esofgica; (c) os que avaliam a funo
do esfago e do EEI.
A. Testes que comprovam a presena de refluxo e sua correlao com sintomas
1.pH-metria das 24 horas
o registo do pH esofgico durante 24 horas, em regime ambulatrio, um mtodo
com boa reprodutibilidade no diagnstico da DRGE, possibilitando o estudo da corre-
lao entre sintomas e refluxo cido.
A quantidade total de cido refludo expressa em percentagem de tempo com pH
esofgico abaixo de 4. Outros parmetros que podem ser analisados: nmero e dura-
o de episdios de refluxo, nmero de episdios de refluxo com durao superior a
5 minutos, e durao do mais longo pico de refluxo. Os parmetros que quantificam
a durao dos episdios de refluxo, reflectem a capacidade de clearance esofgica.
Segundo as recomendaes da American Gasroenterology Association (1996), as prin-
cipais indicaes clnicas para a realizao deste teste so:
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
55
- Avaliao do refluxo cido patolgico e sua correlao com sintomas em doen-
tes com exame endoscpico normal.
- Documentao da resposta teraputica em doentes com sintomas persistentes,
apesar de submetidos a tratamento de inibio cida.
- Deteco de sintomas associados ao refluxo cido em doentes com dor torcica
no cardaca e exame endoscpico negativo (neste caso prefervel associar a
este teste o estudo manomtrico esofgico).
- Avaliao de refluxo patolgico e de sintomas associados em doentes indicados
para cirurgia anti-refluxo.
- Documentao de refluxo cido patolgico e de sintomas associados, aps cirur-
gia anti-refluxo.
2. Monitorizao ambulatria do refluxo biliar
Tem sido evidenciado que a presena de contedo duodenal no esfago contribui
para o desenvolvimento de esofagite. Embora o refluxo duodenogstrico-esofgico s
provoque agresso da mucosa esofgica na presena de cido, pode, por si s, origi-
nar sintomas.
Tendo em conta estes factos, a monitorizao da blis no esfago um teste muito
selectivo. A anlise da concentrao da bilirrubina no esfago tem interesse clnico
nas situaes em que existe forte reduo ou inibio da secreo cida gstrica (por
ex. aps gastrectomia subtotal ou durante a inibio cido por frmacos), e no entan-
to subsistem sintomas de refluxo.
3.Teste de Bernstein (perfuso cida)
um teste que caiu em desuso desde o advento da pH-metria ambulatria. Pretende
avaliar se os sintomas referidos pelo doente so devidos ao refluxo patolgico do cido.
O teste de realizao simples. Colocao de uma sonda nasogstrica no tero mdio
do esfago, posto o que se inicia uma infuso de soro fisiolgico, seguida da intro-
duo de ClH 0.1 N, num ritmo de 6-8 ml/minuto. Se surgem sintomas tpicos (azia ou
dor torcica) nos 15-30 minutos subsequentes, suspende-se a infuso cida e retoma-
se o soro fisiolgico. Se este alivia as queixas, o doente novamente submetido
infuso cida, e repete-se a sequncia.
O teste de Bernstein est indicado sobretudo em doentes com dor torcica atpica e
com endoscopia e pH-metria negativas.
Trata-se de um teste com limitaes: tem carcter subjectivo, apresenta falsos positi-
vos (lcera pptica e gastrite), no considera os efeitos de substncias endgenas
(blis, pepsina, enzimas pancreticas) na produo dos sintomas, no consegue repro-
duzir a ampla variedade de substncias exgenas e actividades dirias que promovem
a DRGE e alteram a sensibilidade da mucosa ao cido.
Doenas do Aparelho Digestivo
56
4. Teste com inibidores da bomba de protes
Este teste consiste na monitorizao da resposta sintomtica a um inibidor da bomba
de protes (IBP), administrado em doses elevadas durante um curto perodo. A dose
de omeprazole utilizada em vrios estudos variou entre 40 e 80 mg/dia, durante 1-2
semanas. Dado que o omeprazole foi o primeiro IBP a ser utilizado com este objecti-
vo, este teste tambm chamado de teste do omeprazole.
O teste considerado positivo quando se observa uma melhoria de 50-75% nos sin-
tomas. No entanto, a maior acuidade na predio da DRGE foi atingida com um cut-
off de 65% ou mais.
Este teste barato, simples, seguro e no invasivo. No entanto, tem falsos-positivos
e falsos-negativos.
A informao disponvel sugere que aceitvel realizar um teste com IBP em doentes
com sintomas sugestivos de DRGE. No entanto, so necessrios mais estudos para
definir rigorosamente a sua sensibilidade e especificidade.
B. Tcnicas que avaliam o grau e a severidade das leses da mucosa
1.Endoscopia
De acordo com as recomendaes da American Society for Gastrointestinal Endoscopy
(1999), a endoscopia digestiva alta o exame de escolha em doentes com azia se h
dados clnicos sugestivos de severidade do refluxo, ou se outras doenas podero
estar presentes. Esses critrios clnicos incluem: sintomas de disfagia ou odinofagia;
sintomas persistentes ou progressivos apesar da teraputica j instituda; sintomas
atpicos (extra-esofgicos); sintomas esofgicos em doentes imunodeprimidos; pre-
sena de massa, estenose ou lcera no exame radiolgico do esfago; evidncia de
hemorragia gastrointestinal ou de anemia derropnica.
A endoscopia no um mtodo de comprovao de refluxo patolgico ou de anlise
da correlao refluxo/sintomas. De facto, cerca de 30-60% dos doentes com sintomas
sugestivos de DRGE e endoscopia normal, evidenciam, no registo da pH-metria ambu-
latria, correlao entre os sintomas e o refluxo cido, ou uma exposio patolgica
ao cido.
So conhecidos mais de 30 sistemas de classificao endoscpica dos quadros lesio-
nais induzidos pela DRGE. Nenhum deles universalmente aceite. No entanto, h
actualmente dois sistemas de graduao das leses endoscpicas da DRGE que tm
suscitado ampla aceitao: o sistema de Savary-Miller, e a classificao de Los
Angeles:
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
57
No mbito do diagnstico da DRGE, o exame endoscpico permite no s identificar
as leses induzidas pelo refluxo patolgico, mas tambm colher bipsias para confir-
mao do achado endoscpico ou eventual definio de outras patologias.
2. Estudo baritado do esfago
Tem actualmente pouco interesse, na medida em que apresenta uma acuidade fran-
camente inferior da endoscopia na identificao das leses de esofagite e suas com-
licaes.
Est indicado em doentes relutantes realizao de endoscopia, ou quando esta no
acessvel ou contra-indicada. Tambm tem interesse na diferenciao entre hrnia
por deslisamento e hrnia para-esofgica.
C Testes que avaliam a funo do esfago e do EEI
1. Manometria
A disfuno peristltica esofgica ocorre em 25% dos doentes com esofagite ligeira e
em quase metade dos doentes com esofagite severa. Essa disfuno traduz-se em
peristalse hipotensiva ou aperistalse. Alm disso, a hiotonia do esfincter esofgico
inferior (EEI) mais comum nos doentes com DRGE do que nos indivduos saudveis.
As indicaes mais importantes para realizar estudos manomtricos em doentes com
suspeita de DRGE so: localizao precisa dos limites do EEI, manobra importante
para o posicionamento correcto dos elctrodos de pH; deteco de distrbios da moti-
Doenas do Aparelho Digestivo
58
CLASSIFICAO DE SAVARY-MILLER
Grau I Leso simples, erosiva ou exsudativa; oval ou linear; envolvendo s uma
prega longitudinal.
Grau II Eroses mltiplas ou leso exsudativa, no circulares, envolvendo mais de
uma prega longitudinal, com ou sem confluncia.
Grau III Leso erosiva ou exsudativa circular.
Grau IV Leses crnicas: lceras, estenoses ou esfago curto, isoladas ou
associadas aos graus I-III.
Grau V Epitlio de Barrett, isolado ou associado a leses de grau I-IV.
CLASSIFICAO DE LOS ANGELES
Grau A Uma ou mais solues de continuidade da mucosa limitada a pregas
isoladas e no superiores a 5 mm.
Grau B Idem, mas pelo menos uma das solues de continuidade superior
a 5 mm.
Grau C Solues de continuidade da mucosa, contnuas entre duas ou mais pregas,
envolvendo menos de 75% da circunferncia do esfago.
Grau D Solues de continuidade da mucosa envolvendo pelo menos 75% da
circunferncia do esfago.
lidade do esfago ou do EEI em doentes com queixas de disfagia; deteco de leses
sistmicas associadas DRGE; avaliao pr-operatria ou ps-operatria da motili-
dade esofgica; avaliao da teraputica mdica ou cirrgica na acalsia.
2. Exame fluoroscpico / cintigrafia esofgica
A observao fluoroscpica durante a ingesto de brio uma tcnica til para eviden-
ciar deficincias no esvaziamento esofgico em doentes com disfagia no obstrutiva.
Utiliza-se eventualmente a cintigrafia radioisotpica para estudar o trnsito esofgico
em doentes com DRGE.
Tm sido propostos vrios algoritmos no diagnstico da DRGE, tendo em conta que
no existe nenhum teste 100% sensvel e especfico. Uma das abordagens de diag-
nstico que consideramos adequada no nosso Pas, encontra-se espelhada no quadro
seguinte:
COMENTRIOS
Entendemos que o exame endoscpico prioritrio na abordagem dos doentes com
queixas de DRGE, de qualquer tipo ou intensidade, porque:
- No nosso Pas acessvel e barato;
- No h correlao entre os sintomas e as leses de esofagite;
Normal
Esofagite
Barret
Tratamento Tratamento
vigilncia
Teste com
IBP
Positivo
?
Negativo
Tratamento
Positivo
?
Negativo
Tratamento
pH metria
24 horas
ALGORITMO PARA DIAGNSTICO DA DRGE
Sintomas de refluxo
Endoscopia digestiva alta
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
59
- Queixas discretas, nomeadamente no idoso, podem traduzir leses severas,
inclusiv a metaplasia de Barrett;
- O conhecimento do grau lesional, em conformidade com as classificaes de
Savary ou de Los Angeles, orienta na atitude teraputica, quer na fase aguda,
quer na teraputica de manuteno;
- O exame endoscpico tranquiliza o doente e o mdico assistente;
- As queixas clnicas podem ser devidas a patologias diferentes da DRGE.
Se o exame endoscpico no evidencia leses, deve solicitar-se a realizao de pH-
metria ambulatria. No sendo possvel realizar este exame, recomenda-se em alter-
nativa um teste com um inibidor da bomba de protes. Se estes testes forem nega-
tivos, deve ponderar-se caso a caso, a melhor conduta a prosseguir.
7. TRATAMENTO
Os objectivos do tratamento da DRGE so:
- Controlo dos sintomas
- Cicatrizao das leses da mucosa esofgica
- Preveno de recidivas e complicaes
- Tratar as complicaes
Para a concretizao desses objectivos, o clnico dispe actualmente das seguintes
modalidades teraputicas:
- Medidas dietticas e de estilo de vida
- Tratamento farmacolgico
- Cirurgia
- Teraputica endoscpica
tradicional recomendar a todos os doentes com DRGE algumas medidas gerais, do
foro diettico e de estilo de vida. A grande maioria dos doentes so submetidos a
teraputica farmacolgica. A cirurgia a abordagem correcta, em determinadas situa-
es. E a teraputica endoscpica utilizada essencialmente no tratamento de algu-
mas complicaes.
1. Medidas dietticas e de estilo de vida
Esto consagradas na rotina clnica e universalmente recomendadas certas medidas no
farmacolgicas, a maioria delas, alis, de duvidosa eficcia. Numa reviso recente sobre
esta matria, Meining e Classen (2000) apresentam as seguintes concluses e sugestes:
Alguns doentes queixam-se de agravamento dos sintomas com certos alimentos ou
Doenas do Aparelho Digestivo
60
hbitos de vida. Nesses casos, o senso clnico recomenda o aconselhamento de medi-
das que decorrem dessa informao.
2. Teraputica farmacolgica
A prevalncia de sintomas tpicos de DRGE muito elevada, como j sublinhamos. S
uma pequena fraco desse iceberg de doentes, usualmente os que apresentam
queixas mais incmodas que afectam a qualidade de vida, decide consultar o seu
mdico assistente.
H muitos doentes que se auto-medicam, utilizando sobretudo anticidos, ou avian-
do na farmcia receitas iterativas, muitas delas j inadequadas ou ultrapassadas.
A teraputica da DRGE deve ser eficaz, segura e de custo aceitvel para a generalida-
de dos doentes. A eficcia implica no s a jugulao dos sintomas e a cicatrizao
das leses da mucosa esofgica, quando existem, mas tambm a preveno de reca-
das. As complicaes da DRGE implicam uma abordagem teraputica mais especfica.
luz da classificao de Los Angeles, a percentagem de doentes de grau A ou B,
muito mais elevada do que a de doentes de grau C ou D. Por outro lado, importa refe-
rir que nos doentes do ambulatrio muito frequente encontrar situaes de DRGE
sem evidncia de leses no exame endoscpico.
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
61
Evidncia Fundamento Recomendar?
cientfica patofisiolgico
Dieta
Evitar gorduras Equvoca Equvoco Geralmente no
Evitar doces Fraca Sim Geralmente no
Evitar picantes/cebola crua Fraca Equivoco Geralmente no
Evitar bebidas gaseificadas Moderada Sim Sim
Preferir bebidas descafeinadas Equvoca Equvoco Geralmente no
Evitar citrinos Fraca Sim Geralmente no
Hbitos alimentares
Evitar refeies copiosas Fraca Sim Sim
Obesidade
Tentar emagrecer Equvoca Equvoco Sim
Consumo de lcool
Tentar evitar Fraca ? Geralmente no
Consumo de tabaco
Tentar evitar Fraca Sim Sim
Actividade fsica
Evitar excessos Fraca Sim Sim, em doentes sintomticos
Posio de dormir
Elevao da cabeceira Equvoca Equvoco Geralmente no
Preferir o lado esquerdo Inequvoca Sim Sim, se possvel
Vamos analisar o tratamento farmacolgico da DRGE, considerando em primeiro lugar
as formas erosivas, e depois a DRGE no erosiva.
A DRGE EROSIVA
A1. Fase aguda
O tratamento mais comum e eficaz da esofagite pptica a reduo da secreo cida
do estmago. O objectivo elevar o pH intra-gstrico e intra-esofgico acima de 4,
durante o maior tempo possvel no perodo das 24 horas.
De facto, est hoje inequivocamente demonstrado, que quanto mais profunda e pro-
longada for a inibio cida, mais depressa se jugulam os sintomas e cicatrizam as
leses da mucosa.
Na inibio cida para tratamento dos episdios agudos da DGRE, tm sido utilizados
os antagonistas H2 (cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina) e quatro inibido-
res da bomba de protes (omeprazole, lansoprazole, pantoprazole e rabeprazole).
Recentemente foi introduzido um novo inibidor da bomba de protes, o esomeprazo-
le, um S-ismero do omeprazole. Os dados j acumulados indicam que o esomepra-
zole superior ao omeprazole em termos de disponibilidade e de menor variao do
pH intragstrico inter-pacientes, evidenciando ainda superioridade no controlo da aci-
dez das 24 horas, relativamente ao omeprazole, lansoprazole e pantoprazole. Nos
ensaios j realizados, apurou-se que o esomeprazole o primeiro inibidor da bomba
de protes (IBP) a revelar supeioridade sobre o omeprazole, em termos de resoluo
dos sintomas e cicatrizao das leses de esofagite erosiva.
Os antagonistas dos receptores H2 tm uma durao de aco relativamente curta,
no ultrapassando usualmente 8 horas. Alm disso, provocam uma inibio incomple-
ta da secreo cida ps-prandial. Uma terceira limitao reside no facto de poder
ocorrer tolerncia aos inibidores H2 dentro de 2 semanas de administrao, de que
resulta um declnio da supresso cida. Este facto tem sido explicado pelo aumento
das concentraes de histamina derivada das clulas enterocromafins nos receptores
H2, aumento que seria determinado pela gastrina.
Pelo contrrio, os IBP controlam quer a secreo basal, quer a estimulada or alimen-
tos, e induzem uma supresso cida mais completa e prolongada do que os inibido-
res H2. Essa inibio elimina virtualmente a aco agressiva da actividade pptica
sobre a mucosa esofgica. Alm disso, no existe evidncia do fenmeno da tolern-
cia com os IBP.
Doenas do Aparelho Digestivo
62
Num estudo elaborado por Kahrilas (1996), apurou este autor que os inibidores H2
evidenciam um ganho teraputica de 10-24% relativamente ao placebo, na cicatriza-
o da esofagite. Utilizando doses mais elevadas destes frmacos, no encontrou
aumento significativo no benefcio teraputico. No entanto, verificou que os IBP eram
uniformemente mais eficazes, exibindo um quadro teraputico de 57-74% relativamen-
te ao placebo.
Segundo Jones e Bitzer (2001), os IBP so mais eficazes do que os inibidores H2 na
supresso dos sintomas e na cicatrizao da esofagite erosiva. De facto, os resulta-
dos de 33 ensaios teraputicos randomizados em mais de 3000 doentes, demonstram
uma resoluo dos sintomas em 83% dos doentes tratados com IBP, contra 60% dos
medicados com inibidores H2. Por outro lado, as taxas de cicatrizao da esofagite
foram de 78% e 50%, respectivamente.
Numa meta-anlise de 17 ensaios, Huang e Hunt 1998) evidenciaram que a taxa de
cicatrizao da esofagite erosiva foi consistente e significativamente mais elevada com
a administrao de IBP em comparao com inibidores H2 (95% v. 62% 12 sema-
na), independentemente do grau de esofagite. Estudos de meta-anlise evidenciaram
tambm superioridade dos IBP no tocante rapidez de resoluo dos sintomas (Chiba
et al. 1997).
Alm dos frmacos inibidores da secreo cida, tem sido tambm advogada a utili-
zao de agentes procinticos na DRGE. Teriam a propriedade de aumentar o tonus
do EEI, acelerar o esvaziamento gstrico e melhorar a peristalse esofgica.
Dentre os frmacos rocinticos, o betanecol e a metoclopramida, foram paulatinamen-
te abandonados, por evidenciarem efeitos secundrios significativos. Um ouro frma-
co que ganhou notoriedade na Europa e nos Estados Unidos da Amrica, o cisapri-
de. No entanto, o aparecimento de casos de arritmias cardacas graves, atribudas a
este produto, particularmente quando administrado em associao com macrlidos
(eritromicina e claritromicina) ou drogas imidazlicas, determinou o seu cancelamen-
to pela FDA (USA) na rotina clnica. Alis, sumariando os dados europeus, verifica-se
que o cisapride no superior aos inibidores H2 no tratamento das formas ligeiras
de esofagite. Evidenciou algum benefcio nos tratamentos em que se associaram os
dois frmacos.
A2 Teraputica de manuteno
A DRGE uma enfermidade crnica. Dentro de 6 meses aps a cessao da terapu-
tica supressora cida, ocorre recorrncia sintomtica, em percentagens que podem
atingir 80% (Hetzel et al). Em face das propenso para a recidiva, coloca-se a ques-
to da necessidade de teraputica de manuteno.
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
63
Vrios ensaios documentaram, de forma inequvoca, que a teraputica contnua com
IBP evidencia taxas de recorrncia a longo prazo muito inferiores s do placebo.
Tambm nos estudos comparativos entre os IBP e os bloqueadores H2, indiscutvel
a superioridade dos primeiros.
Foi questionada, por alguns autores, a teraputica de manuteno com IBP, postulan-
do que a inibio cida prolongada poderia ocasionar efeitos adversos. No se con-
firmaram os receios suscitados, designadamente no tocante ao potencial desenvolvi-
mento de gastrite atrfica ou de processos displsicos/neoplsicos.
Nas formas severas de esofagite pptica (graus C e D de Los Angeles), a teraputica
de manuteno com IBP geralmente indispensvel. Nos quadros mais ligeiros,
necessrio ponderar a sua prescrio, caso a caso.
Finalmente, importante sublinhar que os estudos at agora divulgados, relativamen-
te ao custo-eficcia dos inibidores H2 v. IBP, concluem que estes ltimos so mais
vantajosos, numa perspectiva econmica global (Jones e Bytzer, 2001).
B DRGE NO EROSIVA
B1. Fase aguda
Contrariamente viso tradicional, a DRGE no erosiva ou endoscopicamente negati-
va, no uma doena de severidade ligeira. De facto, quer no plano fisiopatolgico,
quer no plano clnico, existe grande similitude entre as formas erosivas e no erosi-
vas. Nestas ltimas, e num estudo de 451 doentes, Lind et al encontraram aumento
de exposio ao cido em 63% dos casos. Por outro lado, nem a severidade, nem a
frequncia dos sintomas, nomeadamente a azia, permitem distinguir entre formas ero-
sivas e no erosivas.
Em oito ensaios publicados de teraputica anti-refluxo para supresso dos sintomas a
curto prazo, apurou-se um controlo adequado dos sintomas, particularmente da piro-
se, em 23-45% dos doentes medicados com cisapride, em 24-40% dos doentes trata-
dos com cimetidina ou ranitidina, e em 60-70% dos que foram submetidos a terapu-
tica com 20 mg de omeprazole ou 30 mgr de lansoprazole por dia. A resosta ao pla-
cebo, nestes ensaios, situou-se entre 24-44% (Carlsson e Holloway, 2000).
Aparentemente, a resposta destes doentes aos IBP inferior registada nos casos de
DRGE erosiva.
B2. Teraputica de manuteno
Em 44-75% dos doentes com DRGE no erosiva, ocorre recidiva sintomtica dentro de
Doenas do Aparelho Digestivo
64
6 meses aps a interrupo do tratamento. Essa recada maior nos casos com maior
durao dos sintomas na fase pr-tratamento, e nas situaes onde a remisso sin-
tomtica na fase aguda foi mais difcil.
Tal como na DRGE erosiva, esta forma no erosiva exige, em muitos casos, teraputi-
ca de manuteno. Noutras situaes possvel controlar a sintomatologia com tera-
putica intermitente ou on demand.
3. Cirurgia anti-refluxo
A introduo da cirurgia laparoscpica anti-refluxo originou um renovado interesse no
tratamento cirrgico da DRGE. No entanto, estes avanos tcnicos cirrgicos tm de
se confrontar com os poderosos frmacos actualmente disponveis, que possibilitam,
numa percentagem elevada de casos, facultar ao doente uma qualidade de vida abso-
lutamente satisfatria.
A cirurgia pode estar indicada na DRGE complicada de estenose, de epitlio de Barrett
ou de complicaes extra-esofgicas, nomeadamente pulmonares, como adiante vere-
mos. No entanto, o que interessa analisar, neste momento, a problemtica da cirurgia
anti-refluxo v. teraputica farmacolgica de manuteno na DRGE no complicada.
Na esteira de J. Dent, um autor australiano que tem devotado uma boa parte do seu
labor cientfico a esta doena, pensamos que os critrios e os benefcios de maior
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
65
Doente jovem sem doenas associadas Doente idoso com doenas associadas
significativas
Recusa de teraputica de manuteno Aceitao pelo doente de teraputica
a longo prazo mdica prolongada
Equipa cirrgica de elevada qualidade Menor morbilidade
Preferncia do doente por outras razes Incerteza na qualidade da cirurgia
Menor risco de infeces entricas Preferncia do doente por outras razes
A FAVOR DE CIRURGIA ANTI-REFLUXO A FAVOR DE TERAPUTICA MDICA
relevncia na opo por uma dessas modalidades de tratamento, so os seguintes:
Algumas afirmaes que tm sido produzidas no sentido de favorecer a atitude cirr-
gica, so controversas ou no demonstradas: (1) questionvel a afirmao da dura-
bilidade do efeito da cirurgia laparoscpica anti-refluxo ao longo de dcadas; (2) no
est demonstrado que a cirurgia anti-refluxo reduza o risco do Barrett e do adenocar-
cinoma;(3) no est provado que em termos de custo-eficcia, o pndulo favorea a
cirurgia.
A cirurgia laparoscpica anti-refluxo, vai confrontar-se, a curto prazo, com tcnicas de
teraputica endoscpica da DRGE. De facto, encontram-se j comercializados equipa-
mentos endoscpicos que viabilizam a realizao de gastroplastia transendoscpica,
mediante sutura ou aplicao de clips. Um outro mtodo endoscpico, consiste na
implantao submucosa, na rea do EEI, de um material gelatinoso contendo PMMA
(polimetilmetacrilato), em microesferas, no intuito de aumentar a espessura do crion.
Tendo em conta as consideraes expendidas quanto aos mritos do tratamento far-
macolgico, na fase aguda e na manuteno, e quanto aos frmacos mais eficazes
actualmente disponveis, e aps esta breve sinopse das potenciais indicaes da
cirurgia anti-refluxo, entendemos que no momento actual aconselhvel a seguinte
estratgia teraputica na DRGE no complicada:
Doenas do Aparelho Digestivo
66
Suspender medicao
IBP dose normal 2x/dia
4-6 semanas
Controlo dos sintomas ?
Controlo dos sintomas ?
Sim
Recorrncia em < 3 meses
Teraputica de manunteno
com dose normal de IBP
ajustvel em funo dos
sintomas ou
teraputica on demand
IBP - Inibidores da bomba de protes.
** Omeprazole - 20 mgr/dia
Lansoprazole - 30 mgr/dia
Rabeprazole - 20 mgr/dia
Pantoprazole - 40 mgr/dia
Esomeprazole - 40 mgr/dia
No
Medidas gerais
+
IBP* - dose normal**/dia
4-6 semanas
DRGE NO EROSIVA
OU DRGE EROSIVA
(Graus A ou B de Los Angeles)
DRGE refractria ?
Reavaliao (pH-metria,
endoscopia, outros exames)
Cirurgia anti-refluxo?
No Sim
4. TRATAMENTO DAS COMPLICAES
A. BARRETT
Objectivos do tratamento:
(1) Eliminar sintomas de DRGE
(2) Prevenir complicaes da DRGE
(3) Prevenir a extenso proximal do epitlio de Barrett
(4) Induzir regresso do epitlio de Barrett existente
(5) Prevenir progresso para a cancerizao
Meios disponveis para perseguir esses objectivos:
(1) Teraputica farmacolgica
(2) Vigilncia e teraputica endoscpica
(3) Cirurgia
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
67
Controlo dos sintomas ?
IBP dose normal 2x/dia
8 semanas
Controlo dos sintomas ?
IBP dose normal 2x/dia
8 semanas
Sim
Sim
No
DRGE EROSIVA
(GRAUS C OU D DE LOS ANGELES)
Medidas gerais
+
IBP* - dose normal**/dia
8 semanas
Controlo dos sintomas
No Sim
Teraputica de manuteno
com dose normal de IBP
ajustvel em funo
dos sintomas
No
DRGE refractria ?
Reavaliao (pH-metria,
endoscopia, outros exames)
Cirurgia anti-refluxo?
Teraputica farmacolgica
A moderna teraputica farmacolgica anti-refluxo permite satisfazer o primeiro dos
objectivos acima indicados.
No existem dados convincentes relativamente ao benefcio da teraputica mdica da
DRGE na satisfao dos restantes objectivos.
No entanto, admite-se que uma teraputica anti-cida agressiva, utilizando IBP em
dose normal duas vezes/dia, poder ter os seguintes benefcios:
a) A cicatrizao das leses de esofagite facilita a identificao da displasia;
b) Reduo na proliferao e diferenciao celular;
c) Reduo do refluxo duodenogastro-esofgico (blis);
d) Diminuio da expresso da COX-2 e da prostaglandina PG2;
e) Tratamento adjuvante da teraputica ablativa endoscpica.
Vigilncia e teraputica endoscpica
Vigilncia endoscpica
discutvel a eficcia da vigilncia endoscpica na diminuio da morbilidade e da
mortalidade do adenocarcinoma do esfago.
Apesar disso, o American College of Gastroenterology (1998) elaborou as seguintes
recomendaes:
a) Nos doentes sem displasia nas bipsias endoscpicas, vigilncia cada 2-3 anos;
b) Nos doentes com displasia de baixo grau, vigilncia com bipsias endoscopicas
duas vezes/ano, no primeiro ano, e depois anualmente;
c) Nos doentes com displasia de alto grau, vigilncia endoscpica intensiva (alguns
autores propem um ritmo trimestral), com bipsias mltiplas, ou, em alternativa,
resseco cirrgica esofgica.
Na ausncia de dados clnicos definitivos relativamente ao valor da vigilncia endos-
cpica, alguns autores, como Provenzale et al., elaboraram estudos matemticos uti-
lizando o modelo de Markov. De acordo com estes autores, a vigilncia endoscpica
seria funo da incidncia do adenocarcinoma esofgico. Se essa incidncia inferior
a 0.5%, no se ustificaria realizar vigilncia. Se a incidncia excede 2.0%, a vigiln-
cia deveria ser anual. Recorde-se que, em estudos prospectivos, a incidncia do epi-
tlio de Barrett situa-se entre 0.5% e 1.9%.
Teraputica endoscpica
A teraputica endoscpica de ablao do epitlio de Barrett tem sido ensaiada em
doentes com displasia de alto grau. Vrias tcnicas tm sido propostas:
a) Energia trmica
- Laser (argon, Nd:YAG, KTP)
- Electrocoagulao multipolar
- Coagulao por argon plasma
b) Crioterpia
- Azoto lquido
Doenas do Aparelho Digestivo
68
c) Energia ultrassnica
- Aspirador ultrassnico
d) Energia fotoqumica
- Teraputica fotodinmica
e) Energia por radiofrequncia
Os resultados at agora obtidos com estas tcnicas, ainda que promissores, no auto-
rizam a sua implantao na rotina clnica, por enquanto. So tcnicas experimentais,
a utilizar em centros de referncia, no mbito de estudos protocolados.
Cirurgia
Cirurgia anti-refluxo
semelhana do que sucede com a teraputica mdica moderna da DRGE, a cirurgia
anti-refluxo satisfaz o primeiro dos objectivos do tratamento do Barrett, atrs enun-
ciados. No est demonstrado que esta tcnica cirrgica seja benfica nomeadamen-
te no tocante regresso do epitlio de Barett ou preveno na progresso para a
cancerizao.
Resseco esofgica
Tem sido recomendada, por alguns sectores, no tratamento do epitlio de Barrett com
displasia de alto grau. Os argumentos aduzidos a favor da interveno cirrgica so:
(a) Cerca de 1/3 dos doentes com displasia de alto grau j tm carcinoma invasi-
vo;
(b) A excluso de carcinoma exige a colheita de mltiplas bipsias;
(c) A progresso para cancro ocorre frequentemente e pode ser rpida;
(d) No segura a eficcia da vigilncia endoscpica;
(e) Os carcinomas esofgicos j estabelecidos so frequentemente incurveis.
No entanto, h um outro sector de opinio que contraria a atitude cirrgica de ressec-
o, argumentando que:
(a) A displasia de alto grau no evolui obrigatoriamente para cancro invasivo;
(b) Observa-se, ocasionalmente, a regresso da displasia de alto grau;
(c) A vigilncia endoscpica rigorosa pode detectar carcinomas em fase inicial, cur-
vel;
(d) A mortalidade da resseco cirrgica situa-se entre 4-10%;
(e) A resseco cirrgica determina morbilidade substancial.
B. ESTENOSE PPTICA
O tratamento da DRGE complicada de estenose pptica consiste, na maioria dos
casos, na dilatao endoscpica associada a teraputica farmacolgica com IBP. Em
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
69
determinadas situaes, raras, h necessidade de intervir cirurgicamente.
Dilatao
A dilatao endoscpica actualmente o tratamento de eleio das estenoses ppti-
cas. H trs modalidades de dilatadores:
- Velas de mercrio (tipo Hurst ou Maloney);
- Dilatadores de polivinil (tipo Savary ou Bard);
- Bales de polietileno, introduzidos atravs do endoscpio.
As velas de mercrio continuam a ser utilizadas, apesar da existncia de mtodos
mais sofisticados. Tm a seu favor a simplicidade da manobra (no requerem fluoros-
copia nem fio guia) e o baixo custo. Usualmente realizam-se trs dilataes por ses-
so. So teis na dilatao de estenoses curtas, no anel de Schatzki e nas membra-
nas congnitas.
Os dilatadores de polivinil e os bales de polietileno, de calibre e dimenses varia-
das, so presentemente os mtodos de dilatao mais utilizados, propiciando, regra
geral, bons ou excelentes resultados.
Os principais riscos da dilatao incluem a perfurao, a hemorragia e a bacterimia.
A maioria dos estudos reportam a necessidade de repetio da dilatao em mais de
50% dos doentes, por recorrncia da estenose.
Ainda no h dados convincentes relativamente seleco do melhor mtodo de dila-
tao. A experincia do operador e as caractersticas da estenose so factores a ter
em conta na preferncia por um dado sistema.
Tratamento farmacolgico
O tratamento farmacolgico com IBP deve associar-se, sistemticamente, dilatao
esofgica. Os IBP diminuem a necessidade de dilataes recorrentes, aceleram a cica-
trizao de leses de esofagite coexistentes e melhoram a disfagia.
Cirurgia
A resseco esofgica pode ser necessria em doentes que no respondem a dilata-
es repetidas. O mtodo mais utilizado a interposio gstrica com piloroplastia,
obtendo-se bons ou excelentes resultados em cerca de 70% dos casos, com mortali-
dade operatria <5%.
A cirurgia anti-refluxo convencional ou modificada (gastroplastia de Collis-Belsey ou
de Collis-Nissen) esto indicadas em determinadas situaes (por ex. esfago fibrti-
co curto).
C COMPLICAES EXTRA-ESOFGICAS
O tratamento destas complicaes pressupe um diagnstico exacto da situao.
A atitude teraputica mais indicada a administrao de IBP, em doses elevadas e
prolongadas (at 3 meses), ou mais.
Se a teraputica mdica no resultar, h que reavaliar a situao e ponderar o recur-
so cirurgia anti-refluxo. Esta modalidade de tratamento a opo teraputica mais
eficaz, em muitas situaes.
Doenas do Aparelho Digestivo
70
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
71
REFERNCIAS
Orlando RC (Ed.). Gastroesophageal reflux disease. Marcel Dekker, 2000.
Klinkenberg-Knol E, Castell DO. Clinical spectrum and diagnosis of gastroesophageal reflux disease. In: Castell DO, Richter JE (Eds).
The Esophagus. Lippincott Williams & Wilkins 1999: 375-380.
Mittal K. Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease: motility factors. In: Castell DO, Richter JE (Eds). The Esophagus.
Lippincott Williams & Wilkins 1999: 397-408.
Orlando C. Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease: esophageal epithelial resistance. In: Castell DO, Richter JE (Eds).
The Esophagus. Lippincott Williams & Wilkins 1999: 409-420.
Vaezi MF. Duodenogastroesophageal reflux. In: Castell DO, Richter JE (Eds). The Esophagus. Lippincott Williams & Wilkins 1999: 421-436.
Katzka DA, Castell DO. Conservative therapy (Phase I) for gastroesophageal reflux disease. In: Castell DO, Richter JE (Eds). The Esophagus.
Lippincott Williams & Wilkins 1999: 437-446.
Robinson M. Medical managemen of gastroesophageal reflux disease. In: Castell DO, Richter JE (Eds).
The Esophagus. Lippincott Williams & Wilkins 1999: 447-462.
Cameron AJ. Barretts Esophagus In: Castell DO, Richter JE (Eds). The Esophagus. Lippincott Williams & Wilkins 1999: 463-472.
OConnor JB, Richter JE. Esophageal strictures. In: Castell DO, Richter JE (Eds). The Esophagus. Lippincott Williams & Wilkins 1999: 473-484.
Branton AS, Hinder RA, Floch NR et al. Surgical treatment of gastroesophageal reflux disease. In: Castell DO, Richter JE (Eds). The Esophagus.
Lippincott Williams & Wilkins 1999: 511-526.
Carvalhinhos A (Ed). Doena do refluxo gastroesofgico. Permanyer Portugal, 1995.
Gregrio C Souto P, Gouveia H, Freitas D. pH-metria esofgica das 24 horas em ambulatrio: o mtodo e o seu valor.
Coimbra Mdica 1994;15:313-317
Pontes F. Refluxo gastroesofgico. Rev. Gastroenterol 1988;VI (supl. 22):1-20.
Mendes de Almeida, JC. O esfago de Barrett. Da definio teraputica. Parte I: evoluo do conceito, definio, epidemiologia, biopato-
logia. GE J Port Gastroenterol 1997;4(3):169-178.
Mendes de Almeida, JC. O esfago de Barrett. Da definio teraputica. Parte II: clnica e teraputica. GE J Port Gastroenterol 1997;4(4):228-237.
Lundell LR, Dent J, Bennett JR et al. Endoscopic assessment of oesophagitis: clinical and functional correlates and further validation of the
Los Angeles classification. Gut 1999;45:172-180.
Fennerty MB, Triadafilopoulos G. Barretts-related esophageal adenocarcinoma: is chemoprevention a potential option? Am J Gastroenterol
2001;96(8):2302-2305.
Spechler SJ (Ed.). The columnar-lined Esophagus. Gastroenterol Clin North Am 1997:26(3).
Kaynard A, Flora K. Gastroesophageal reflux disease. Control of symptoms, prevention of complications. Postgrad Med.
2001 Sep;110(3):42-4, 47-8, 51-3.
T Andersson, K Rhss, E Bredberg & M Hassan-Alin. Pharmacokinetics and pharamcodynamics of esomeprazole, the S-isomer of omeprazo-
le. Alim Pharm & Therapeut 2001;15(10):1563-570.
Pace F, Annese V, Ceccatelli P, Fei L. Ambulatory oesophageal pH-metry. Position paper of the Working Team on Oesophageal pH-metry by
the GISMAD (Gruppo Italiano di Studio sulla Motilita dell'Apparato Digerente). Dig Liver Dis. 2000 May;32(4):357-64.
Jailwala JA, Shaker R. Supra-oesophageal complications of reflux disease. Dig Liver Dis. 2000 May;32(4):267-74.
Kartman B. Utility and willingness to pay measurements among patients with gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2001
Aug;96(8 Suppl):S38-43.
Johanson JF. Critical review of the epidemiology of gastroesophageal reflux disease with specific comparisons to asthma and breast cancer.
Am J Gastroenterol. 2001 Aug;96(8 Suppl):S19-21.
Eisen G. The epidemiology of gastroesophageal reflux disease: what we know and what we need to know. Am J Gastroenterol. 2001 Aug;96(8
Suppl):S16-8.
Dent J. Review Article: is Helicobacter pylori relevant in the management of reflux disease? Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:16-21.
DeVault KR. What is the optimal medical therapy for Barrett's esophagus? Dig Dis. 2000-2001;18(4):217-23.
DeVault KR. Epidemiology and significance of Barrett's esophagus. Dig Dis. 2000-2001;18(4):195-202.
Shrestha S, Pasricha PJ. Update on noncardiac chest pain. Dig Dis. 2000;18(3):138-46.
Hogan WJ. Endoscopic treatment modalities for GERD: technologic score or scare? Gastrointest Endosc. 2001 Apr;53(4):541-5.
Falk GW. Gastroesophageal reflux disease and Barrett's esophagus. Endoscopy. 2001 Feb;33(2):109-18.
Green JA, Amaro R, Barkin JS. Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. Dig Dis Sci. 2000
Dec;45(12):2367-8.
Fass R, Fennerty MB, Vakil N. Nonerosive reflux disease--current concepts and dilemmas. Am J Gastroenterol. 2001 Feb;96(2):303-14.
DeVault KR. Gastroesophageal reflux disease: extraesophageal manifestations and therapy. Semin Gastrointest Dis. 2001 Jan;12(1):46-51.
Waring JP. Nonerosive reflux disease. Semin Gastrointest Dis. 2001 Jan;12(1):33-7.
Kahrilas PJ. Management of GERD: medical versus surgical. Semin Gastrointest Dis. 2001 Jan;12(1):3-15.
Pace F, Bianchi Porro G. Trends, controversies and contradictions in the management of gastroesophageal reflux disease patients.
Scand J Gastroenterol. 2000 Dec;35(12):1233-7.
Penagini R. Fat and gastro-oesophageal reflux disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Dec;12(12):1343-5.
Fitzgerald RC, Lascar R, Triadafilopoulos G. Review article: Barrett's oesophagus, dysplasia and pharmacologic acid suppression. Aliment
Pharmacol Ther. 2001 Mar;15(3):269-76.
Dent J, Jones R, Kahrilas P, Talley NJ. Management of gastro-oesophageal reflux disease in general practice. BMJ. 2001 Feb 10;322(7282):344-7.
DiPalma JA. Management of severe gastroesophageal reflux disease. J Clin Gastroenterol. 2001 Jan;32(1):19-26.
O'Connor JB, Provenzale D, Brazer S. Economic considerations in the treatment of gastroesophageal reflux disease: a review.
Am J Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3356-64.
Johnson DG. The past and present of antireflux surgery in children. Am J Surg. 2000 Nov;180(5):377-81.
Murray JA, Camilleri M. The fall and rise of the hiatal hernia. Gastroenterology. 2000 Dec;119(6):1779-81.
Rosch T. Gastroesophageal reflux disease and Barrett's esophagus. Endoscopy. 2000 Nov;32(11):826-35.
Horvath KD, Swanstrom LL, Jobe BA. The short esophagus: pathophysiology, incidence, presentation, and treatment in the era of laparos-
copic antireflux surgery. Ann Surg. 2000 Nov;232(5):630-40.
Storr M, Meining A, Allescher HD. Pathophysiology and pharmacological treatment of gastroesophageal reflux disease.
Dig Dis. 2000;18(2):93-102.
ESFAGO - Doena do Refluxo Gastro-Esofgico
71
Doenas do Aparelho Digestivo
72
Doenas do Aparelho Digestivo
Meining A, Classen M. The role of diet and lifestyle measures in the pathogenesis and treatment of gastroesophageal reflux disease. Am J
Gastroenterol. 2000 Oct;95(10):2692-7.
Swain CP. Endoscopic suturing. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Apr;13(1):97-108.
Katzka DA, Rustgi AK. Gastroesophageal reflux disease and Barrett's esophagus. Med Clin North Am. 2000 Sep;84(5):1137-61.
Spechler SJ. Barrett's oesophagus: diagnosis and management. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Oct;14(5):857-79.
Carlsson R, Holloway RH. Endoscopy-negative reflux disease. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Oct;14(5):827-37.
Dent J. Controversies in long-term management of reflux disease. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Oct;14(5):811-26.
Lundell L. Anti-reflux surgery in the laparoscopic era. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Oct;14(5):793-810.
Kahrilas PJ. Strategies for medical management of reflux disease. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Oct;14(5):775-91.
van Herwaarden MA, Smout AJ. Diagnosis of reflux disease. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Oct;14(5):759-74.
Nandurkar S, Talley NJ. Epidemiology and natural history of reflux disease. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Oct;14(5):743-57.
Malfertheiner P, Gerards C. Helicobacter pylori infection and gastro-oesophageal reflux disease: coincidence or association? Baillieres Best
Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Oct;14(5):731-41.
Holloway RH. The anti-reflux barrier and mechanisms of gastro-oesophageal reflux. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000
Oct;14(5):681-99.
Menes T, Lelcuk S, Spivak H. Pathogenesis and current management of gastrooesophageal-reflux-related asthma. Eur J Surg. 2000
Aug;166(8):596-601.
Pandolfino JE, Kahrilas PJ. Smoking and gastro-oesophageal reflux disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Aug;12(8):837-42.
DeVault KR. Overview of therapy for the extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2000
Aug;95(8 Suppl):S39-44.
Harding SM, Sontag SJ. Asthma and gastroesophageal reflux. Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8 Suppl):S23-32.
Wong RK, Hanson DG, Waring PJ, Shaw G. ENT manifestations of gastroesophageal reflux. Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8 Suppl):S15-22.
Irwin RS, Richter JE. Gastroesophageal reflux and chronic cough. Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8 Suppl):S9-14.
Katz PO, Castell DO. Approach to the patient with unexplained chest pain. Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8 Suppl):S4-8.
Stedman CA, Barclay ML. Review article: comparison of the pharmacokinetics, acid suppression and efficacy of proton pump inhibitors.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Aug;14(8):963-78.
Jonsson B, Zethraeus N. Costs and benefits of laparoscopic surgery--a review of the literature. Eur J Surg. 2000;Suppl 585:48-56.
Lonroth H. Efficacy of, and quality of life after antireflux surgery. Eur J Surg. 2000;Suppl 585:34-6.
Wolfe MM, Sachs G. Acid suppression: optimizing therapy for gastroduodenal ulcer healing, gastroesophageal reflux disease, and stress-
related erosive syndrome. Gastroenterology. 2000 Feb;118(2 Suppl 1):S9-31.
Rice TW. Why antireflux surgery fails. Dig Dis. 2000;18(1):43-7.
Fass R. Empirical trials in treatment of gastroesophageal reflux disease. Dig Dis. 2000;18(1):20-6.
Holloway RH, Dent J. Medical treatment of gastroesophageal reflux disease - beyond the proton pump inhibitors. Dig Dis. 2000;18(1):7-13.
Richter JE. Gastroesophageal reflux disease and asthma: the two are directly related. Am J Med. 2000 Mar 6;108 Suppl 4a:153S-158S.
Orenstein SR. Management of supraesophageal complications of gastroesophageal reflux disease in infants and children. Am J Med. 2000
Mar 6;108 Suppl 4a:139S-143S.
Orlando RC. Mechanisms of reflux-induced epithelial injuries in the esophagus. Am J Med. 2000 Mar 6;108 Suppl 4a:104S-108S.
Johanson JF. Epidemiology of esophageal and supraesophageal reflux injuries. Am J Med. 2000 Mar 6;108 Suppl 4a:99S-103S.
Hornby PJ, Abrahams TP. Central control of lower esophageal sphincter relaxation. Am J Med. 2000 Mar 6;108 Suppl 4a:90S-98S.
Waring JP. Postfundoplication complications. Prevention and management. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Dec;28(4):1007-19.
Hinder RA, Libbey JS, Gorecki P, Bammer T. Antireflux surgery. Indications, preoperative evaluation, and outcome. Gastroenterol Clin North
Am. 1999 Dec;28(4):987-1005.
Katzka DA. Motility abnormalities in gastroesophageal reflux disease. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Dec;28(4):905-15.
Achem SR. Endoscopy-negative gastroesophageal reflux disease. The hypersensitive esophagus. Gastroenterol Clin North Am. 1999
Dec;28(4):893-904.
Richter JE. Peptic strictures of the esophagus. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Dec;28(4):875-91.
Fennerty MB. Extraesophageal gastroesophageal reflux disease. Presentations and approach to treatment. Gastroenterol Clin North Am. 1999
Dec;28(4):861-73.
Hatlebakk JG, Katz PO, Castell DO. Medical therapy. Management of the refractory patient. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Dec;28(4):847-60.
DeVault KR. Overview of medical therapy for gastroesophageal reflux disease. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Dec;28(4):831-45.
Younes Z, Johnson DA. Diagnostic evaluation in gastroesophageal reflux disease. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Dec;28(4):809-30.
Richter JE. Gastroesophageal reflux disease in the older patient: presentation, treatment, and complications.
Am J Gastroenterol. 2000 Feb;95(2):368-73.
Delattre JF, Avisse C, Marcus C, Flament JB. Functional anatomy of the gastroesophageal junction. Surg Clin North Am. 2000 Feb;80(1):241-60.
Soll AH, Fass R. Gastroesophageal reflux: practical management of a common, challenging disorder. Clin Cornerstone. 1999;1(5):1-17.
Bochud M, Gonvers JJ, Vader JP, Dubois RW, Burnand B, Froehlich F. Appropriateness of gastroscopy: gastro-esophageal reflux disease.
Endoscopy. 1999 Oct;31(8):596-603.
Katz PO. Treatment of gastroesophageal reflux disease: use of algorithms to aid in management. Am J Gastroenterol. 1999 Nov;94(11 Suppl):S3-10.
Ormseth EJ, Wong RK. Reflux laryngitis: pathophysiology, diagnosis, and management. Am J Gastroenterol. 1999 Oct;94(10):2812-7.
Dent J. Helicobacter pylori and reflux disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Aug;11 Suppl 2:S51-7.
Pipkin GA, Mills JG. Onset of action of antisecretory drugs: beneficial effects of a rapid increase in intragastric pH in acid reflux disease.
Scand J Gastroenterol Suppl. 1999;230:3-8.
Tytgat GN. Oesophageal disorders and gastro-oesophageal reflux disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Jan;11(1):9-11.
McNamara D, O'Morain C. Gastro-oesophageal reflux disease and Helicobacter pylori: an intricate relation. Gut. 1999 Jul;45 Suppl 1:I13-7.
Gisbert JP, Pajares JM, Losa C. Helicobacter pylori and gastroesophageal reflux disease: friends or foes? Hepatogastroenterology.
1999 Mar-Apr;46(26):1023-9.
Hunt RH. Importance of pH control in the management of GERD. Arch Intern Med. 1999 Apr 12;159(7):649-57.
Falk GW. Reflux disease and Barrett's esophagus. Endoscopy. 1999 Jan;31(1):9-16.
Kuipers EJ, Klinkenberg-Knol EC. Helicobacter pylori, acid, and omeprazole revisited: bacterial eradication and rebound hypersecretion.
Gastroenterology. 1999 Feb;116(2):479-83.
Chekan EG, Pappas TN. The laparoscopic management of gastroesophageal reflux disease. Adv Surg. 1999;32:305-30.
ESFAGO - Tumores do Esfago
73
SECO I - ESFAGO
CAPTULO III
TUMORES DO ESFAGO
1. Carcinoma Espinocelular
2. Adenocarcinoma
3. Outros Tumores Malignos
4. Tumores Benignos
73
Doenas do Aparelho Digestivo
TUMORES MALIGNOS DO ESFAGO
O carcinoma espinocelular (CE), tambm designado de escamoso, epidermide ou
pavimento-celular, e o adenocarcinoma (AC) compreendem mais de 95% dos tumores
malignos do esfago. O cancro do esfago o sexto mais comum escala mundial.
1. CARCINOMA ESPINOCELULAR (CE)
EPIDEMIOLOGIA
O CE apresenta notveis variaes geogrficas na sua incidncia. Na China, onde ocor-
rem anualmente cerca de 60% dos casos de CE do globo, a incidncia est claramen-
te demarcada em reas geogrficas. Nas provncias de Linxian, Fanxian e
Hunyunanxian, a incidncia de CE de 131.8, 23.7 e 1.3 por 100.000 habitantes, res-
pectivamente. Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da Amrica, a incidncia
mais baixa. Neste pas, por exemplo, estima-se uma incidncia de 2.6 por 100.000. Em
Portugal registam-se cerca de 5 novos casos por ano por 100.000 habitantes.
Nas ltimas duas dcadas testemunhou-se nos pases ocidentais um outro fenmeno
epidemiolgico impressivo. Se at dcada de setenta, cerca de 90% dos cancros do
esfago eram de tipo espinocelular, desde ento o adenocarcinoma esofgico tem
aumentado de forma impressionante, de tal sorte que compreende actualmente cerca
de 50% dos novos casos de cancro do esfago. Por outro lado, tm aumentado tam-
bm os adenocarcinomas da zona crdica do estmago, em paralelo ao AD do esfago.
Estas mutaes epidemiolgicas inexplicveis, tm suscitado evidente preocupao.
ETIOLOGIA E FACTORES DE RISCO
Nutrio. Em todo o mundo, tm sido implicadas deficincias nutricionais na patog-
nese do CE. Nveis baixos de retinol, riboflavina, scido ascrbico e alfa-tocoferol so
prevalentes na populao de Linxian, China, onde o CE endmico. O baixo consu-
mo de fruta, particularmente de citrinos, tem sido associado ao incremento desta neo-
plasia. Deficincias em vrios oligoelementos, designadamente o selnio, o zinco e o
molibdnio, so tambm apontadas como possveis factores etiolgicos. Aponta-se
tambm o papel carcinognico de N-nitrosaminas, contidas nomeadamente em certo
tipo de alimentos conservados em extratos vegetais.
lcool e tabaco. No mundo ocidental, o lcool est associado ao CE. O risco est
directamente relacionado com a quantidade e tipo de lcool consumido (a associao
mais forte com licores e mais fraca com cerveja). Tambm o consumo de tabaco,
ESFAGO - Tumores do Esfago
75
isoladamente ou em ligao ao lcool, tem sido desde h muito tempo associado ao
CE. As nitrosaminas concentradas nos produtos do tabaco poderiam estar implicadas.
O fumo do tabaco agrava a esofagite, talvez porque a nicotina induz stress oxidativo
na mucosa esofgica.
Acalsia. A incidncia de CE em doentes com acalsia (3.4/1000) mais elevada do
que na populao de controlo. Sandler et al calcularam que estes doentes tm um
risco de desenvolvimento de CE 16 vezes superior ao normal. Admite-se que as inter-
venes de dilatao pneumtica ou miotomia atenuem de forma significativa esse
risco. Recentemente alguns autores questionaram a existncia desta associao entre
CE e acalsia.
Estenoses. As estenoses crnicas podem constituir factor de risco de CE, possivelmen-
te porque originam estase, esofagite e hiperplasia epitelial. As estenoses custicas cons-
tituiriam um particular factor de risco, estimando alguns autores um risco 1000 vezes
maior do que na populao de controlo. A maioria dos casos de CE ocorrem 4-5 dca-
das aps a agresso inicial, e 10-20 anos mais cedo do que no geral da populao.
Esofagite crnica. Estudos realizados na China e no Iro evidenciaram que a esofagi-
te crnica (uma entidade diferente da esofagite crnica da doena do refluxo) muito
mais prevalente (65-80% dos indivduos) em reas onde o CE endmico. Alm disso,
a atrofia do epitlio foi observada em 10% e a displasia em 4% dos indivduos inves-
tigados. Estes valores so francamente mais elevados do que os registados em popu-
laes de reas geogrficas de baixo risco de CE. O consumo de bebidas muito quen-
tes e o infrequente consumo de frutos frescos, seriam factores importantes na gne-
se de fenmenos de esofagite crnica severa.
Vrus do papiloma humano (VPH). Continua a ser investigada a relao entre este
vrus e o CE. Evidncia morfolgica do VPH e de antignios virais foi encontrada em
peas cirrgicas de CE. Por exemplo, em zonas de alto risco na China, o DNA do VPH
foi detectado em 72% de doentes com evidncia de leses pr-cancerosas no esfa-
go. O VPH induziria alteraes citopticas com progresso para displasia e cancro,
num contexto de deficincias nutricionais ou infeco persistente.
Factores genticos. Um estudo efectuado na China e em Hong Kong evidenciou muta-
es no gene supressor tumoral p53, em 42% dos doentes com CE. Chaves et al
detectaram a expresso do p53 em 57% dos doentes com CE e Uchino et al eviden-
ciaram que a expresso do p53 se relacionava com pior prognstico do CE. A tilose,
um distrbio autossmico dominante, caracterizado por hiperqueratose das palmas
das mos e ps, at agora a nica bem documentada associao gentica com o
CE. Estima-se que os membros das famlias afectadas tm um risco de 95% de desen-
volverem CE ao longo da vida.
Doenas do Aparelho Digestivo
76
Miscelnia. O CE tem sido tambm associado a outros grupos de risco: histria de
radioterpia, cancro da regio cervical, sindrome de Plummer-Vinson, doena celaca.
PATOMORFOLOGIA
A localizao mais usual do cancro espinocelular no tero mdio do esfago.
S 8-12% dos casos de CE so diagnosticados em fase precoce (localizao intraepi-
telial, intramucosa ou submucosa). S 2.2% dos cancros precoces no ultrapassam
a muscularis mucosae, um sub-grupo com sobrevida mdia de cerca de 90% aos 5
anos.
O CE cresce por invaso intraesofgica e das estruturas vizinhas e dissemina-se por
via linftica e hematognia. As metstases linfticas situam-se entre 42-67%. Dado
que o fluxo linftico esofgico bidireccional, so mltiplos os locais de metastiza-
o linftica. Metstases a distncia, particularmente para o fgado, pulmo e esque-
leto, esto presentes em 25-30% dos doentes na altura do diagnstico, e em 50%
dos casos autopsiados.
HISTRIA NATURAL
Apresentao clnica
Os sintomas de CE no so especficos e so similares seja qual for o tipo histolgi-
co. A disfagia o sintoma de apresentao mais comum. Tipicamente o doente apre-
senta queixas disfgicas inicialmente para slidos e posteriormente , ao longo de um
perodo de semanas a meses, essa dificuldade inclui semi-lquidos e lquidos.
A odinofagia (dor retroesternal associada deglutio) o segundo sintoma mais
frequente. Pode dever-se a ulcerao do tumor ou a invaso das estruturas mediast-
nicas adjacentes. Dor permanente na regio dorsal ou esternal indicia invaso medias-
tnica. A regurgitao de alimentos pode ocorrer quando existe estenose esofgica
cerrada. Sintomas constitucionais de anorexia e perda de peso podem estar presen-
tes quando o doente busca auxlio mdico. A rouquido pode ocorrer nos tumores
proximais. A hematemese rara.
O exame fsico no geralmente til na abordagem desta doena. Por vezes o doen-
te apresenta um estado de prostrao, desidratao e inanio, ou porque no con-
segue deglutir os alimentos, ou talvez porque o tumor segrega um factor que induz
a caquexia. importante verificar se o doente apresenta adenopatias cervicais ou
supraclaviculares, ou massa abdominal.
ESFAGO - Tumores do Esfago
77
Complicaes
A obstruo do lume esofgico pode induzir um quadro de pneumonite aspirativa. Dado
que o esfago no tem serosa, o crescimento tumoral local pode associar-se a envolvi-
mento da rvore traqueo-brnquica, com formao de trajectos fistulosos. Podem ocor-
rer tambm fstulas esofago-mediastnicas e esofago-pleurais. A paralisia das cordas
vocais pode ser consequncia do envolvimento do nervo larngeo recorrente.
Disseminao metastsica
A disseminao linftica precoce caracterstica do CE. Em geral, as leses do esfa-
go cervical envolvem os gnglios cervicais, supraclaviculares e mediastnicos; as
leses das zonas mdia e distal do esfago envolvem o mediastino, os gnglios para-
traqueais e abdominais; e as leses do crdia invadem os gnglios gstricos superio-
res, paracelacos e para-articos.
A disseminao hematognea ocorre usualmente para o fgado (32%) e pulmo (21%),
mas outros orgos podem ser invadidos, incluindo: esqueleto (8%), rim (7%), perito-
neu (5%), suprarenais (4%), estmago (4%) e corao (4%).
Factores clnicos de prognstico
A sobrevivncia na mulher excede a do homem, provavelmente porque os estrognios
inibem o crescimento tumoral.
A doena parece ser mais agressiva no indivduo jovem.
A hipercalcmia que pode ocorrer em percentagens que atingem os 28%, indiciam pior
prognstico.
Todos estes factores clnicos tm interesse, mas importante sublinhar que o mais
importante factor clnico de prognstico a extenso da invaso tumoral na altura do
diagnstico.
DIAGNSTICO
Dado que o prognstico do CE muito mau quando o diagnstico estabelecido, e
tendo em conta que o diagnstico e tratamento dos tumores em fase precoce resul-
tam em taxas de sobrevivncia aos 5 anos de 90% ou mais, o rastreio de populaes
assintomticas tem suscitado especial interesse em zonas de alto risco.
Rastreio geral
Em zonas de elevado risco, como a China, o rastreio da populao assintomtica
tem permitido a deteco subclnica do CE em fase precoce. Um balo recoberto por
uma malha de fibra sinttica introduzido no estmago e repuxado ao longo do
esfago, aps insuflao. As clulas epiteliais recolhidas so submetidas a estudo
citolgico. Dos cancros detectados por este mtodo, cerca de ? encontram-se numa
fase inicial.
Doenas do Aparelho Digestivo
78
Rastreio selectivo
Nas zonas onde a incidncia do CE baixa, como sucede em Portugal, no se justifi-
cam medidas de rastreio de massas populacionais. No entanto, em grupos especfi-
cos, advoga-se um rastreio selectivo mediante a utilizao de endoscopia com bi-
psias e citologia, cada 1-3 anos. Nesses grupos de risco devem integrar-se doentes
com: acalsia, estenose custica, tilose, sindrome de Plummer-Vinson, carcinoma da
cabea ou da regio cervical, e carcinoma da cavidade oral e da faringe. Outro grupo
de risco constitudo por doentes com esfago de Barrett, que ser objecto de an-
lise especial quando se abordar o adenocarcinoma do esfago.
Esofagoscopia
A avaliao endoscpica necessria em todos os doentes com sintomas e sinais cl-
nicos sugestivos de cancro do esfago. Os tumores avanados so facilmente detec-
tados e identificados no exame endoscpico. Nas formas estenosantes, frequente-
mente necessrio efectuar dilatao prvia para uma observao exacta do processo
tumoral. O exame endoscpico deve ser complementado com bipsias e citologia.
As leses precoces podem ser muito subtis, de aparncia quase normal. Requerem
grande apuro e experincia da parte do observador. Alm das bipsias e da citolo-
gia, a aplicao de corantes, designadamente o lugol ou o azul de toluidina, podem
constituir importantes achegas para a obteno de um diagnstico exacto.
O desenvolvimento de novas tecnologias no mbito da fibro e da videoendoscopia,
nomeadamente com finalidades de diagnstico, tem suscitado grande expectativa,
aguardando-se a sua introduo rpida na rotina clnica.
Exames radiogrficos
O Rx do trax pode evidenciar metstases pulmonares, pneumonia por aspirao,
fstulas, abcessos ou perfurao.
O exame baritado do esfago foi suplantado pela moderna endoscopia. No entanto,
no deixa de ter utilidade clinica, nomeadamente nos doentes onde o exame
endoscpico arriscado ou difcil (estenose esofgica, obstruo completa).
Possibilita tambm a identificao de fstulas e o estudo do eixo esofgico para
avaliao da ressecabilidade.
ESTADIAMENTO
O melhor indicador de prognstico em doentes com CE, a extenso da doena no
momento do diagnstico. Por isso, o estadiamento importante, do ponto de vista
teraputico e de prognstico. O estadiamento TNM do American Joint Committee on
Cancer e da International Union Against Cancer, que a seguir se indica, o mais fre-
quentemente utilizado:
ESFAGO - Tumores do Esfago
79
Segundo os dados do American Joint Committe on Cancer (1992), a invaso tumoral
tem um impacto substancial na sobrevivncia aos 5 anos: T1=46.1%; T2=29.5%;
T3=21.7%; T4=7%. Por outro lado, 39.9% dos doentes cirrgicamente tratados sobre-
vivem aos 5 anos se forem N0, e s 16.8% sobrevivem aos 5 anos se forem N1. Nos
doentes com metstases para gnglios linfticos e para rgos slidos, a sobrevivn-
cia aos 5 anos seria de 5.2% e 3%, respectivamente. Analisando a sobrevivncia aos
5 anos em funo do estdio da classificao TNM, apuraram-se os seguintes valores:
60.4%, 31.3%, 19.9% e 4.1%, respectivamente para os estdios I, II, III e IV.
Para uma avaliao rigorosa do estdio do tumor, fundamental realizar determina-
dos exames complementares, aps uma observao clnica cuidada. Esses exames so
os seguintes.
Doenas do Aparelho Digestivo
80
ESTADIAMENTO TNM DO CANCRO DO ESFAGO
Tumor primitivo (T)
TX Tumor primitivo no pode ser avaliado
T0 Sem evidncia de tumor primitivo
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor invade a lmina prpria ou submucosa
T2 Tumor invade a muscular prpria
T3 Tumor invade a adventcia
T4 Tumor invade estruturas adjacentes
Gnglios linfticos regionais (N)
NX Gnglios regionais no podem ser avaliados
N0 Sem metstases nos gnglios regionais
N1 Metstases nos gnglios regionais
Metstases a distncia (M)
MX Metstases a distncia no podem ser avaliadas
M0 Sem metstases a distncia
M1 Com metstases a distncia
Estdio
Estdio 0 Tis N0 M0
Estdio I T1 N0 M0
Estdio II A T2 N0 M0
T3 No M0
Estdio II T1 N1 M0
T2 N1 M0
Estdio III T3 N1 M0
T4 Qualquer N M1
Estdio IV Qualquer T Qualquer N M1
Tomografia computorizada (TC)
Embora usualmente utilizada no estadiamento do CE, a sensibilidade desta tcnica
no muito elevada. Porventura a sua mais importante funo a deteco de mets-
tases a distncia, extra-nodais, ou de recorrncia tumoral.
A determinao da extenso local ou regional do tumor e da invaso de estruturas
mediastnicas adjacentes efectuada pela avaliao dos planos mediastnicos. A
espessura da parede esofgica normal de 3-5 mm, aproximadamente. Os carcino-
mas podem induzir espessamento local ou circunferencial da parede esofgica. Em
muitas situaes a TC permite detectar invaso transmural para o mediastino, e a
rvore traqueo-brnquica pode apresentar sinais de deslocamento, compresso ou
disrupo. Tambm possvel ocasionalmente distinguir a invaso da aorta. No entan-
to, nos doentes muito emagrecidos, com diminuio da gordura mediastnica, a TC
evidencia grandes dificuldades na avaliao pr-operatria de ressecabilidade.
A avaliao dos gnglios linfticos pela TC tambm frequentemente insatisfatria. A
determinao da invaso ganglionar feita com base nas dimenses dos ndulos lin-
fticos. Uma vez que estes podem ser sede de invaso microscpica, e dado que alte-
raes inflamatrias benignas podem aumentar os gnglios linfticos, h um elevado
grau de incerteza na avaliao da invaso ganglionar, designadamente no que respei-
ta aos gnglios peri-esofgicos e subdiafragmticos.
Ressonncia Magntica (RM)
A RM pode avaliar a invaso mediastnica e a ocorrncia de metstases hepticas to
bem quanto a TC. Esta mais solicitada dada a maior experincia j acumulada e o
menor custo.
Eco-endoscopia (EE)
actualmente considerado um mtodo de 1 linha no estadiamento do CE. Define o
grau de penetrao do tumor na parede esofgica e estuda os gnglios linfticos na
proximidade da parede esofagogstrica. Os estudos at agora efectuados so muito
encorajadores.
De facto vrias sries publicadas evidenciam taxas de preciso diagnstica de 74-
92%, relativamente invaso tumoral. Quanto exactido na definio do estdio N,
de 74-88%. Dada a limitada capacidade de penetrao pelos ultra-sons, a deteco
de metstases a distncia pobre, no ultrapassando os 70%.
A impossibilidade de transpor uma estenose maligna com o eco-endoscpio de 12-
63%, conforme as sries, o que no deixa de representar uma limitao significativa.
Dois avanos importantes recentes vieram consolidar as grandes potencialidades da
eco-endoscopia. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de sondas de 12-MHz e 20-
MHz, que podem passar atravs do canal de bipsia do endoscpio, possibilitando a
ESFAGO - Tumores do Esfago
81
ultrapassagem de estenoses malignas. E em segundo lugar, a possibilidade de reali-
zao de aspirao com agulha fina de gnglios peri-esofgicos e celacos, utilizando
a EE linear, permitindo deste modo melhorar a sensibilidade, a especificidade e a
exactido na definio do estadiamento N.
Outra nova tcnica, a EE tridimensional, encontra-se em fase de ensaio. Tem a capa-
cidade de aumentar o grau de preciso no estadiamento, mediante a utilizao de um
software que reconstri a imagem bi-dimensional da EE convencional, numa imagem
tri-dimensional.
Broncoscopia
Uma elevada percentagem de doentes com CE tm envolvimento das vias respirat-
rias, que pode ser confirmado por broncoscopia. Este exame deve ser considerado
sobretudo nos doentes com carcinoma do esfago cervical e mdio. No primeiro caso
mais usual a invaso da traqueia, e no segundo caso mais comum o envolvimen-
to do brnquio esquerdo. A paralisia das cordas vocais sugere atingimento do nervo
larngeo recorrente.
Laparoscopia
Apesar de uma elevada sensibilidade e especificidade na deteco de metstases
intra-abdominais em doentes com CE, e de ser superior ultrassonografia e TC na
identificao de metstases hepticas, a laparoscopia actualmente pouco utilizada
na avaliao de doentes com CE.
TRATAMENTO
A teraputica mais indicada depende do estdio em que o tumor se encontra.
Diferentes modalidades de tratamento tm sido utilizadas: cirurgia, radioterpia, qui-
mioterpia e endoscopia. Nalguns casos avanados, s est indicado o tratamento de
suporte. A deciso clnica baseia-se no estadiamento correcto, nas condies do doen-
te e no objectivo em vista: cura ou paliao. Nos estdios I e II, realiza-se usualmen-
te cirurgia, por outro lado infrequentemente utilizada no estdio IV. A situao mais
comum o CE no estdio III, e aqui que ocorrem mais variaes na opo terapu-
tica. Vejamos as vantagens e limitaes de cada uma destas modalidades de trata-
mento.
Cirurgia
Pode ser usada com fins curativos ou paliativos. Nos pases ocidentais, o diagnsti-
co precoce raro pelo que a cirurgia mais frequentemente solicitada em tumores
no estdio III, ou alm. A deciso difcil porque a literatura referente ao tratamento
cirrgico do CE confusa. Muitos relatos so retrospectivos, sem controlos, combinam
Doenas do Aparelho Digestivo
82
dados do CE e do AC (adenocarcinoma), no distinguem os resultados em funo do
estadiamento e incluem teraputicas adjuvantes no estandardizadas. A confuso
aumenta pelo facto de se defenderem tcnicas operatrias e filosofias cirrgicas diver-
gentes, designadamente: objectivo do tratamento (curativo ou paliativo), tipo de inci-
so (transtorcica vs transhiatal), extenso da resseco, conduta na reconstruo e
local da anastomose (regio cervical vs trax). A escolha ainda complicada pelo facto
de que no se encontra estandardizado o conceito de resseco curativa. Aos doen-
tes que apresentam um tumor no estdio III frequente constatar que uma interven-
o programada com inteno curativa, acaba por ser paliativa. De facto, a percenta-
gem de doentes com CE de grau III, submetidos a esofagectomia, e que lograram
sobreviver mais de 5 anos, de 10-15%.
O nmero de gnglios com metstases muito importante. A cura ainda possvel se
s 4 gnglios invadidos so detectados. Dado que estes podem localizar-se na regio
cervical, no trax ou no abdmen, a disseco cirrgica tem de incluir estas trs reas.
Radioterpia (RT)
A RT, isolada ou em combinao com a cirurgia ou quimioterpia, tem constitudo um
suporte vlido no tratamento do CE. Os resultados obtidos so melhores no sexo
feminino, nos tumores proximais e nos tumores com menos de 5 cm de extenso.
Quando administrada com intuitos curativos, a dose total de RT de 50-80 Gy (1
Gy=100 rad). Alguns centros combinam a RT externa com a irradiao intraluminal
(braquiterpia), na inteno de reduzir a agresso dos tecidos envolventes.
A sobrevivncia aps RT no pode ser comparada da cirurgia, na medida em que
usualmente utilizada em tumores avanados ou em doentes com contra-indicao
cirrgica. No existem estudos randomizados e controlados comparando a RT e a
cirurgia em grupos de doentes homogneos, no tocante ao grau de estadiamento.
Nos casos de doena locoregional, a sobrevivncia mdia aps RT usualmente de
6-12 meses, com menos de 10% dos doentes a atingir os 5 anos. No entanto, taxas
de sobrevida de 12-20% tm sido referidas em doentes com CE nos estdios I e II. Na
maioria dos doentes a RT tem intuitos paliativos, com percentagens de 60-85% de al-
vio da disfagia.
Enquanto que o carcinoma espinocelular radiosensvel, sendo nalguns casos cura-
do pela RT, o adenocarcinoma do esfago relativamente insensvel s radiaes.
Alm disso, a RT dirigida a tumores justa-crdicos pode aumentar a sua morbilidade
dada a proximidade do estmago radiosensvel.
As complicaes mais frequentes da RT so a esofagite e a estenose esofgica, poden-
do esta ocorrer em percentagens que podem atingir os 67%. Complicaes extra-eso-
fgicas dose-dependentes podem ocorrer entre 2-60 meses aps RT e incluem: mieli-
te, sindrome de Brown-Squard, derrame pericrdico, pericardite constritiva, pneumo-
nite, fibrose pulmonar e lcera gstrica.
ESFAGO - Tumores do Esfago
83
A principal contra-indicao da RT a fstula esfago-brnquica ou traqueal.
Quimioterpia
Ao contrrio da cirurgia e da RT, a quimioterpia sistmica tem uma vantagem teri-
ca no tratamento do CE, uma vez que a maioria dos doentes apresentam, na obser-
vao inicial, um processo disseminado. Infelizmente, a mono ou poliquimioterpia
no muito eficaz em prover o controlo local da doena ou melhorar a sobrevida.
Embora a resposta global com quimioterpia isolada se localize entre 40-50%,
segundo vrias referncias, a maioria dos doentes tm uma resposta incompleta. Os
regimes tradicionais tm sido baseados no cisplatino, em combinao com o 5-Fu, a
bleomicina e/ou a vindesina. Ensaios recentes utilizaram o paclitaxel, cisplatina e 5-
Fu, e tambm o lobaplatino isolado. A toxicidade continua a ser uma limitao signi-
ficativa da quimioterpia. fundamental equacionar estes efeitos secundrios com a
sobrevida limitada de doentes com cancro avanado.
Teraputica multimodal
1. Radioterpia pr-operatria
A inteno da RT pr-operatria ou neoadjuvante melhorar a possibilidade de res-
seco cirrgica e reduzir a falncia locoregional. As doses totais de radiao so mais
baixas do que na RT curativa (30-40 Gy). Nenhum ensaio prospectivo evidenciou bene-
fcio da RT neoadjuvante em termos de sobrevida significativa. Alis, reportam-se, nal-
guns doentes, ndices de morbilidade aumentados e reduo na sobrevida, pelo que
a RT neoadjuvante no recomendada em doentes considerados bons candidatos a
cirurgia, excepto no mbito de ensaios clnicos em centros de referncia.
2.Quimioterpia pr-operatria
semelhana da RT neoadjuvante, esta opo teraputica tambm no melhora de
forma significativa a ressecabilidade e a sobrevida a longo termo.
3. Quimio-radioterpia pr-operatria
Esta combinao teraputica tem sido advogada dado que alguns agentes citotxicos
evidenciam propriedades de radiosensibilizao. So mltiplas as metodologias reco-
mendadas. A maioria dos ensaios inclui o cisplatino, ou mitomicina C + 5 Fu, conco-
mitantemente com radioterpia externa. Uma resposta morfolgica completa referi-
da em percentagens at 24% dos doentes. Contudo, muitos doentes morreram de
doena metastsica com sobrevida no superior aos doentes submetidos somente a
resseco cirrgica. Nos ensaios comparativos desta combinao teraputica com RT
isolada, a incidncia de toxicidade severa ou moderada foi menor nesta ltima opo
teraputica.
Alguns autores advogam a utilizao sequencial de quimioterpia e RT, para limitar a
toxicidade, mas esta alterao pode diminuir a resposta tumoral.
Doenas do Aparelho Digestivo
84
Quando comparada com a RT isolada, a quimio+RT parece oferecer melhores perspec-
tivas de sobrevivncia, no entanto custa de maior morbilidade.
No est apurado se os doentes com resposta completa quimio + RT, tero vanta-
gem na subsequente esofagectomia. So necessrios mais estudos randomizados e
controlados, comparando a quimio + RT neoadjuvante, e a quimio + RT isolada.
Teraputica endoscpica (TC)
Na maioria dos casos, a TC utilizada com fins paliativos. Em situaes raras, onde
se detectou um CE em fase inicial ou precoce, a TC tem sido proposta com finalida-
des curativas, utilizando designadamente a mucosectomia endoscpica e a teraputi-
ca fotodinmica. So vrias as tcnicas endoscpicas utilizadas como teraputica
paliativa:
1. Dilatao endoscpica
actualmente um mtodo destinado a possibilitar a realizao cabal de um exame
endoscpico (fibro ou videoendoscopia e ecoendoscopia), ou a aplicao de outras
teraputicas paliativas. tambm til no tratamento de estenoses rdicas, muitas
delas invadidas por recorrncia tumoral. Uma dilatao eficaz reduz a disfagia em
cerca de 90% dos doentes. A durao da melhoria clnica, no entanto, usualmente
curta. Nas estenoses malignas complexas, isto , muito cerradas ou angulosas, ou
associadas a fstula, devem utilizar-se dilatadores de polivinil (por ex. de Savary-
Gilliard) sob controlo fluoroscpico. Os dilatadores com balo so menos eficazes nas
estenoses malignas.
2. Laserterpia endoscpica
O laser Nd:YAG o preferido em endoscopia digestiva dada a profundidade da sua
penetrao tissular e a sua capacidade hemosttica. A sua utilidade baseada na pro-
priedade de coagular protenas e vaporizar tecidos. No cancro do esfago, pode res-
taurar a patncia luminal e reduzir a disfagia. Os tumores de curta extenso, exofiti-
cos, no circunferenciais, localizados na zona mdia ou distal do esfago, so os mais
indicados para teraputica com laser. Os tumores situados na zona cricofarngea so
mais difceis de abordar e tratar. A restaurao do lume esofgico conseguida em
mais de 90% dos doentes. O alvio da disfagia menor, ocorrendo em 70-85% dos
doentes. O intervalo livre de disfagia varivel, situando-se, em mdia, entre 2-3
meses. A laserterpia pode ter complicaes, sendo a perfurao (2-8% dos doentes)
a mais grave.
3.Prteses esofgicas (PE)
Alguns peritos consideram a PE o gold standard do tratamento paliativo do CE. No
entanto, embora a maioria dos clnicos concorde no princpio de que a PE a tera-
putica de 1 linha nos doentes com CE complicado de fstula, no existe consenso
no tocante aos tumores malignos no fistulizados. A experincia acumulada revela que
ESFAGO - Tumores do Esfago
85
uma PE colocada na juno esofago-gstrica ou perto do cricofarngeo, associa-se a
aumento de complicaes.
Uma prtese bem colocada assegura uma reduo da disfagia em 90-95% dos doen-
tes.
Entre 1970 e o incio da dcada de 90, utilizaram-se as prteses de plstico. A partir
desta altura, comeou a era das prteses metlicas auto-expansveis, desenvolvidas
na tentativa de melhorar a facilidade de introduo e minorar as complicaes.
Num relatrio elaborado em 1996 por Axelrad e Fleischer, de Georgetown, USA, onde
se fez a reviso da experincia de 25 autores que introduziram 383 prteses metli-
cas auto-expansveis, s foram registadas 28 complicaes agudas. A perfurao do
esfago foi reportada em 2 doentes (0.5%). Dentre as complicaes tardias, citam-se
a migrao da prtese (9%) e a proliferao tumoral para o seu lumen (9%). Esta lti-
ma complicao pode ser obviada pelo advento de prteses recobertas, que no entan-
to podem migrar mais facilmente.
No momento actual dispomos de quatro tipos de prteses metlicas auto-expansveis.
No h ainda estudos onde se tenham comparado o custo, a eficcia e a segurana
de cada um desses tipos. Cada um deles tem problemas especficos, relacionados com
o seu desdobramento, migrao, obstruo, ulcerao ou remoo. A sua principal
limitao o custo. As prteses de plstico so consideravelmente mais baratas. Se,
como alguns estudos sugerem, os doentes tratados com prteses auto-expansveis
necessitam de menos intervenes e tm menos complicaes do que os pacientes
onde foi colocada uma prtese de plstico, esse custo acaba por ser justificado.
4. Injeco intratumoral
A teraputica endoscpica com injeco de lcool tem sido recomendada por alguns
autores. um tratamento barato, no entanto discutvel a sua eficcia. A maioria dos
doentes requerem tratamentos repetidos, com um intervalo mdio de 30 dias, e mui-
tos acabam por realizar outros tratamentos paliativos. Por outro lado, os efeitos do
lcool nos tecidos no imediatamente detectado, e desse modo difcil prever a
extenso da necrose tumoral.
Outros autores propem a injeco no tumor de uma combinao de um produto
esclerosante (morruato sdico a 2.5%) + 5Fu. Os resultados no so satisfatrios.
5. Electrocoagulao bipolar
O BICAP (bipolar coagulation probe) um instrumento de electrocoagulao que liber-
ta energia e coagula as reas atingidas. Tem sido utilizado, com pouca frequncia, no
tratamento paliativo de obstrues malignas, nomeadamente em tumores exofticos
circunferenciais. disponvel em olivas com dimetros de 6-15 mm e liberta energia
elctrica bipolar numa circunferncia de 360.
6. Teraputica fotodinmica
Doenas do Aparelho Digestivo
86
Trata-se de uma engenhosa modalidade de teraputica endoscpica que envolve a
administrao endovenosa de uma substncia que se acumula selectivamente nas
clulas tumorais e activada por um laser de baixo potencial. Dessa activao resul-
ta uma reaco no trmica, fotoqumica, que induz fluorescncia, citotoxicidade e
necrose tumoral. Uma das substncias mais utilizadas tem sido um derivado da hema-
toporfirina (Photofrin) ou o cido aminolevulnico, tendo este a particularidade de
poder ser administrado por via oral.
A eficcia da teraputica fotodinmica depende de vrios factores, incluindo a concen-
trao no tecido tumoral do agente fotosensibilizante, a profundidade do tumor e a
energia laser. Vrios ensaios reportaram bons resultados com a teraputica fotodinmi-
ca. Lightdale et al, por exemplo, no maior estudo at agora efectuado em que se com-
parou esta tcnica com o Nd:YAG laser, verificaram que a teraputica fotodinmica evi-
denciou maiores benefcios, designadamente em tumores > 10 cm, em tumores localiza-
dos no esfago cervical e em tumores da transio esofago-gstrica. O maior
problema com a teraputica fotodinmica utilizando o Photofrin, que este produto fica
retido na pele durante cerca de 6 semanas aps a injeco, pelo que h necessidade
de evitar a exposio aos raios solares durante esse perodo de tempo, sob pena de
poderem surgir queimaduras severas. A introduo do cido aminolevulnico tem, entre
outras, a vantagem de eliminar esses efeitos secundrios do Photofrin.
ESFAGO - Tumores do Esfago
87
SINOPSE DAS OPES TERAPUTICAS NO CANCRO DO ESFAGO (CE)
TRATAMENTO VANTAGENS DESVANTAGENS
Cirurgia * Potencialmente curativa, Morbilidade e custo
melhor no CE inicial Taxa de cura
Radioterpia (RT) Taxa de resposta modesta Tratamentos mltiplos;
moderada morbilidade e
custo; raramente curativa
Quimioterpia Trata doena metastsica Taxa de resposta . Impacto
mnimo na sobrevida
Teraputica multimodal Melhoria da sobrevida nas Morbilidade e custo
(Quimio + RT) respostas completas
Teraputica multimodal Pode aumentar taxa de cura Morbilidade e custo
(Quimio + RT + Cirurgia) e sobrevida
Dilatao Usualmente eficaz Paliao de curta durao
Nd:YAG laser Poderoso. Tecnicamente difcil. Caro.
Penetrao profunda
Prtese Fcil colocao da prtese Complicaes a distncia .
expansivel Caro.
Electrocoagulao Tcnica barata Difcil de controlar
Injeco de lcool Tcnica barata e fcil Difcil de controlar
Teraputica fotodinmica Tecnicamente fcil. Ablao Caro. Fotosensibilidade
tumoral selectiva. Eficaz na da pele
obstruo completa
* A mucosectomia endoscpica, a ablao trmica e a teraputica fotodinmica podem ser curativas em doentes com
early cancer.
2 ADENOCARCINOMA (AC)
Epidemiologia e etiologia
A incidncia de AC do esfago, que no passado era baixa, tem vindo a crescer de
forma impressionante nos ltimos anos, de tal forma que actualmente representa
cerca de metade dos carcinomas esofgicos nos Estados Unidos da Amrica. Esta
variao demogrfica parece espelhar uma evoluo semelhante detectada no es-
fago de Barrett, identificado em 12% dos doentes que realizam exame endoscpico
por doena de refluxo gastro-esofgico (D. Fleischer, N. Haddad, 1999).
Cerca de 90% dos casos de AC ocorrem no homem, preferencialmente da raa bran-
ca. Tambm cerca de 90% deste tipo de tumores esto localizados no tero distal do
esfago. Em termos macroscpicos, o AC apresenta caractersticas idnticas s do
tumor espinocelular.
O principal precursor do AC do esfago o epitlio de Barrett. De facto, em 69-86%
de doentes com AC, verificou-se a existncia de metaplasia intestinal tpica do Barrett.
As reas adjacentes ao tumor exibem frequentemente um espectro de anomalias,
desde displasia discreta a carcinoma in situ. Por outro lado, a prevalncia de AC na
altura do diagnstico do epitlio de Barrett pode atingir os 10%. Em estudos prospec-
tivos, apurou-se que a incidncia de AC no esfago com Barrett 40-125 vezes mais
elevada do que a esperada na populao geral.
Alm do Barrett clssico, h dados que sugerem que o segmento curto (<3 cm) de epi-
tlio de Barrett pode representar igualmente um factor de risco, assim como a meta-
plasia intestinal que ocorre no crdia.
Pensa-se que existe uma progresso linear desde o epitlio escamoso normal, at
metaplasia intestinal especializada tpica do Barrett, a qual pode ser sede de leses
displsicas que culminam no adenocacinoma. Provavelmente distrbios na expresso
gentica esto na base desta sequncia morfolgica.
Histria natural
A apresentao clnica do AC similar do carcinoma espinocelular. Os doentes apre-
sentam geralmente disfagia, regurgitao, dor retroesternal e perda de peso. A
histria clnica sugere frequentemente sintomas de doena de refluxo gastro-esofgi-
co de longa durao. Uma vez que o tumor se localiza preferencialmente no esfago
distal, menos frequente a ocorrncia de fistulas esofago-pulmonares.
Ocorre precocemente invaso linftica. A prevalncia de metstases nos gnglios lin-
fticos de 75% nos ndulos para-hiatais, de 66% nos ndulos da artria gstrica
esquerda e de 54% nos ndulos da artria esplnica. semelhana do que acontece
no carcinoma espinocelular, comum a invaso longitudinal ao longo da parede eso-
Doenas do Aparelho Digestivo
88
fgica (em 20% dos casos h envolvimento dos gnglios para-esofgicos). A
sobrevida mdia aos 5 anos, nas anlises retrospectivas, inferior a 5%.
Tratamento
Na maioria das sries publicadas sobre o tratamento do cancro do esfago, no h
estratificao dos doentes em funo do subtipo histolgico, pelo que difcil avaliar
se o AC deve ser tratado de modo diferente do carcinoma espinocelular. Aceita-se que
a resseco cirrgica a modalidade teraputica que oferece a melhor chance de
sobrevida a longo prazo.
A radioterpia do AC e uma forma eficaz de paliao dos sintomas, mas parece no
prolongar a sobrevida. Estudos recentes, utilizando a combinao de radioterpia e
quimioterpia, evidenciaram melhores perspectivas do que a radioterpia isolada.
As opes teraputicas paliativas endoscpicas so idnticas s utilizadas no carci-
noma espinocelular. Dado que o AC afecta geralmente a inervao vagal, o doente
pode apresentar atraso de esvaziamento gstrico com maior facilidade de refluxo gas-
tro-esofgico, sobretudo depois da aplicao de uma prtese na juno esofago-gs-
trica. Alm disso, mais frequente acontecer a sua migrao.
3. OUTROS TUMORES MALIGNOS
Sarcomas
Compreendem cerca de 0.8% dos tumores do esfago. H vrios tipos histolgicos.
O verdadeiro sarcoma provem do tecido mesenquimatoso e integra o leiomiosarcoma,
o rabdomiosarcoma e o fibrosarcoma. O leiomiosarcoma o sarcoma esofgico pri-
mrio mais comum, representando cerca de 0.5% dos tumores malignos do esfago.
A teraputica indicada a resseco cirrgica.
Linfoma
O linfoma primrio do esfago potencialmente curvel. Na maioria dos casos, o
envolvimento esofgico por linfoma secundrio. Com o advento da Sida, assistiu-se
a um aumento da frequncia do linfoma esofgico primrio. A teraputica mais indi-
cada a combinao de radioterpia + quimioterpia.
Miscelnea
Os tumores de clulas endcrinas (apudomas), o melanoma primrio, o carcinoma
adenoescamoso, o carcinoma mucoepidermide, so tipos raros de tumores malignos
do esfago, que pode ser alvo, por outro lado, de metstases provenientes designa-
damente do pulmo, da mama e de melanomas do estmago.
ESFAGO - Tumores do Esfago
89
4. TUMORES BENIGNOS DO ESFAGO
Podemos dividi-los em dois sub-grupos: tumores extramucosos-intramurais, e tumo-
res mucosos-intraluminais.
A. Tumores extramucosos - intramurais
Leiomioma
o tumor benigno esofgico mais comum, constituindo cerca de 2/3 dos tumores
benignos. Usualmente afecta os 2/3 distais do esfago e habitualmente nico. Tm
uma configurao oval ou redonda e dimenso varivel (3-8 cm no dimetro maior).
Dada a sua localizao intramural, esto usualmente recobertos por mucosa normal
escamosa. Ao contrrio dos leiomiomas do estmago, raramente ulceram e sangram. A
maioria dos leiomiomas so descobertos incidentalmente no exame endoscpico ou
radiolgico. Por vezes so sintomticos, originando disfagia progressiva insidiosa ou
dor torcica. Nas leses sintomticas, deve ser considerada a hiptese da resoluo
cirrgica por enucleao. Cerca de 10% dos leiomiomas requerem interveno cirrgi-
ca, sendo a enucleao associada a 1.8% de mortalidade. A resseco endoscpica
geralmente contra-indicada, embora possa ser tentada nos tumores pediculados.
Quistos esofgicos
So anomalias congnitas. A maioria dos doentes so assintomticos. A sua inflama-
o ou infeco pode originar sintomas. O exame endoscpico pode detect-los, ao
identificar formaes arredondadas, lisas e azuladas debaixo de mucosa intacta.
Quando originam sintomas significativos, devem ser excisados cirrgicamente.
B. Tumores mucosos - intraluminais
Plipos fibrovasculares
Originam-se quase sempre no esfago superior, so comummente assintomticos e
podem atingir propores gigantes (20-30 cm de comprimento). Como tm um ped-
culo longo, podem ser regurgitados para a hipofaringe. O tratamento cirrgico.
Tumor de clulas granulosas
A histognese destes tumores desconhecida. Provvel origem neural (clula de
Schwann). Cerca de 2/3 localizam-se no tero distal do esfago. A bipsia endoscpica
usualmente diagnstica. A maioria dos casos so assintomticos. A cirurgia recomenda-
da nas formas sintomticas, ou quando h suspeita de malignizao, evento raro.
Miscelnea
Os pseudotumores inflamatrios, os linfangiomas, os papilomas de clulas escamosas
e os lipomas, so tumores benignos raros.
Doenas do Aparelho Digestivo
90
ESFAGO - Tumores do Esfago
91
ESFAGO - Tumores do Esfago
91
REFERNCIAS
Rustgi AK (Ed.). Section II. Cancer of the Esophagus. Lippincott-Raven 1995:91-196.
Fleischer DE, Haddad NG. Neoplasms of the Esophagus. In: Castell DO, Richter JE (Eds). Lippincott Williams & Wilkins 1999:235-258.
Peters JH, DeMeester TR. Surgical therapy for cancer of the esophagus and cardia. In: Castell DO, Richter JE (Eds). Lippincott Williams &
Wilkins 1999:235-258.
Freitas D, Donato A, Gouveia H. Tratamento paliativo do cancro do esfago com Laser Nd:YAG. Rev. Gastroenterol. 1989;VI(23,supl):101-106.
Freitas D, Gouveia H, Sofia C et al. Tratamiento endoscopico de los tumores malignos. In: Vsquez-Iglsias JL (Ed.). Endoscopia Digestiva Alta.
II Teraputica. Galicia Edit. SA 1995:30-42.
Freitas D, Gouveia H, Sofia C et al. Endoscopic Nd:YAG Laser therapy as palliative treatment for esophageal and cardial cancer. Hepato-
Gastroenterology 1995;42:633-637.
Pontes JM, Leito MC, Portela F et al. A puno aspirativa guiada por ecoendoscopia nas leses tumorais gastrointestinais. GE J Port
Gastroenterol 1996;3(4):284-289.
Sequeira C, Pina Cabral JE, Gouveia H, Freitas D et al. Teraputica fotodinmica no crescimento tumoral em prteses esofgicas. GE J Port
Gastroenterol 2001;8(3):197-201.
Pinho C, Poas C, Barrias S. Condies e leses pr-malignas do esfago. In: Pinho CA, Soares J (Eds). Condies e leses pr-malignas do
tubo digestivo. Permanyer Portugal 1998:13-22.
Sousa RF, Morales CP & Spechler SJ. Review article: a conceptual approach to understandig the molecular mechanisms of cancer develop-
ment in Barretts oesophagus. Alim Pharm & Therapeut 2001;15(8):1087-1100.
Barrias S, Cerqueira R, Silvestre F. Esfago de Barrett. In: Pinho CA, Soares J (Eds). Condies e leses pr-malignas do tubo digestivo.
Permanyer Portugal 1998:23-40.
Hochain P, Michel P, Ducroite P. Les prothses mtaliques expansives oesophagiennes. Hepato-Gastro 1998;5(4):303-311.
Dusoleil A, Amaris J, Prat F et al. Les prothses du tube digestif. Gastroenterol Clin Biol 2000;24:211-220.
Gouveia H, Freitas D, Gouveia Monteiro J et al. Introduo de prteses endo-esofgicas por via endoscpica. Coimbra Mdica 1980;1(5):351-353.
Fennerty MB, Triadafilopoulos G. Barrett's-related esophageal adenocarcinoma: is chemoprevention a potential option? Am J Gastroenterol.
2001 Aug;96(8):2302-5.
Chen X, Yang CS. Esophageal adenocarcinoma: a review and perspectives on the mechanism of carcinogenesis and chemoprevention.
Carcinogenesis. 2001 Aug;22(8):1119-29.
Reid BJ. p53 and neoplastic progression in Barrett's esophagus. Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1321-3.
DeVault KR. Epidemiology and significance of Barrett's esophagus. Dig Dis. 2000-2001;18(4):195-202.
Pech O, Gossner L, May A, Ell C. Management of Barrett's oesophagus, dysplasia and early adenocarcinoma. Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2001 Apr;15(2):267-84.
Messmann H. Squamous cell cancer of the oesophagus. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Apr;15(2):249-65.
Dunaway PM, Wong RK. Risk and surveillance intervals for squamous cell carcinoma in achalasia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001
Apr;11(2):425-34.
Inoue H. Treatment of esophageal and gastric tumors. Endoscopy. 2001 Feb;33(2):119-25.
Geh JI, Crellin AM, Glynne-Jones R. Preoperative (neoadjuvant) chemoradiotherapy in oesophageal cancer. Br J Surg. 2001 Mar;88(3):338-56.
Green JA, Amaro R, Barkin JS. Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. Dig Dis Sci. 2000
Dec;45(12):2367-8.
Wijnhoven BP, Tilanus HW, Dinjens WN. Molecular biology of Barrett's adenocarcinoma. Ann Surg. 2001 Mar;233(3):322-37.
Moreto M. Diagnosis of esophagogastric tumors. Endoscopy. 2001 Jan;33(1):1-7.
Ajani JA, Fairweather J, Pisters PW, Charnsangavej C. Irinotecan and cisplatin in advanced gastric or gastroesophageal junction carcinoma.
Oncology (Huntingt). 2000 Dec;14(12 Suppl 14):19-21.
Barr H, Dix AJ, Kendall C, Stone N. Review article: the potential role for photodynamic therapy in the management of upper gastrointestinal
disease. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Mar;15(3):311-21.
Sharma P, Sampliner RE. The rising incidence of esophageal adenocarcinoma. Adv Intern Med. 2001;46:137-53.
Mallery S, Van Dam J. EUS in the evaluation of esophageal carcinoma. Gastrointest Endosc. 2000 Dec;52(6 Suppl):S6-11.
Dumonceau JM, Deviere J. Self-expandable metal stents. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Apr;13(1):109-30.
O'Sullivan GC, Shanahan F. Esophagogastric cancer--time to change the paradigm. Am J Gastroenterol. 2000 Sep;95(9):2153-4.
Krasna MJ, Tepper J. The role of multimodality therapy for esophageal cancer. Chest Surg Clin N Am. 2000 Aug;10(3):591-603.
Edelman MJ. Recent developments in the chemotherapy of advanced esophageal cancer. Chest Surg Clin N Am. 2000 Aug;10(3):561-7.
Macha M, Whyte RI. The current role of transhiatal esophagectomy. Chest Surg Clin N Am. 2000 Aug;10(3):499-518.
Rice TW. Clinical staging of esophageal carcinoma. CT, EUS,. and PET. Chest Surg Clin N Am. 2000 Aug;10(3):471-85.
D'Amico TA, Harpole DH Jr. Molecular biology of esophageal cancer. Chest Surg Clin N Am. 2000 Aug;10(3):451-69.
Gamliel Z. Incidence, epidemiology, and etiology of esophageal cancer. Chest Surg Clin N Am. 2000 Aug;10(3):441-50.
Burdick JS. Esophageal cancer prevention, cure, and palliation. Semin Gastrointest Dis. 2000 Jul;11(3):124-33.
Geboes K, Van Eyken P. The diagnosis of dysplasia and malignancy in Barrett's oesophagus. Histopathology. 2000 Aug;37(2):99-107.
Geboes K. Barrett's esophagus: the metaplasia-dysplasia-carcinoma sequence: morphological aspects. Acta Gastroenterol
Belg. 2000 Jan-Mar;63(1):13-7.
Radu A, Wagnieres G, van den Bergh H, Monnier P. Photodynamic therapy of early squamous cell cancers of the esophagus.
Gastrointest Endosc Clin N Am. 2000 Jul;10(3):439-60.
Lightdale CJ. Role of photodynamic therapy in the management of advanced esophageal cancer. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2000
Jul;10(3):397-408.
Lambert R. Treatment of esophagogastric tumors. Endoscopy. 2000 Apr;32(4):322-30.
Kubba AK, Krasner N. An update in the palliative management of malignant dysphagia. Eur J Surg Oncol. 2000 Mar;26(2):116-29.
Hatch GF 3rd, Wertheimer-Hatch L, Hatch KF et al. Tumors of the esophagus. World J Surg. 2000 Apr;24(4):401-11.
Jenkins TD, Friedman LS. Adenocarcinoma of the esophagogastric junction. Dig Dis. 1999;17(3):153-62.
Reynolds JC, Waronker M, Pacquing MS, Yassin RR. Barrett's esophagus. Reducing the risk of progression to adenocarcinoma.
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Dec;28(4):917-45.
Meyenberger C, Fantin AC. Esophageal carcinoma: current staging strategies. Recent Results Cancer Res. 2000;155:63-72.
Bohorfoush AG. New diagnostic methods for esophageal carcinoma. Recent Results Cancer Res. 2000;155:55-62.
Pera M. Epidemiology of esophageal cancer, especially adenocarcinoma of the esophagus and esophagogastric junction.
Recent Results Cancer Res. 2000;155:1-14.
Doenas do Aparelho Digestivo
92
Doenas do Aparelho Digestivo
Tselepis C, Perry I, Jankowski J. Barrett's esophagus: disregulation of cell cycling and intercellular adhesion in the
metaplasia-dysplasia-carcinoma sequence. Digestion. 2000;61(1):1-5.
Lerut T, Coosemans W, De Leyn P, et al. Treatment of esophageal carcinoma. Chest. 1999 Dec;116(6 Suppl):463S-465S.
Bergman JJ, Fockens P. Endoscopic ultrasonography in patients with gastro-esophageal cancer. Eur J Ultrasound. 1999 Nov;10(2-3):127-38.
Collard JM, Giuli R. Surgical and multimodal approaches to cancer of the oesophagus: state of the art. Acta Gastroenterol Belg.
1999 Jul-Sep;62(3):272-82.
Haag S, Nandurkar S, Talley NJ. Regression of Barrett's esophagus: the role of acid suppression, surgery, and ablative methods.
Gastrointest Endosc. 1999 Aug;50(2):229-40.
Morgan R, Adam A. The radiologist's view of expandable metallic stents for malignant esophageal obstruction. Gastrointest
Endosc Clin N Am. 1999 Jul;9(3):431-5.
Mayoral W, Fleischer DE. The esophacoil stent for malignant esophageal obstruction. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Jul;9(3):423-30.
Mokhashi MS, Hawes RH. The ultraflex stents for malignant esophageal obstruction. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Jul;9(3):413-22.
Nelson D. The wallstent I and II for malignant esophageal obstruction. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Jul;9(3):403-12.
Rahmani EY, Rex DK, Lehman GA. Z-stent for malignant esophageal obstruction. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Jul;9(3):395-402.
Lehnert T. Multimodal therapy for squamous carcinoma of the oesophagus. Br J Surg. 1999 Jun;86(6):727-39.
Krasna MJ, Mao YS. Making sense of multimodality therapy for esophageal cancer. Surg Oncol Clin N Am. 1999 Apr;8(2):259-78.
Lambert R. The role of endoscopy in the prevention of esophagogastric cancer. Endoscopy. 1999 Feb;31(2):180-99.
Kubba AK, Poole NA, Watson A. Role of p53 assessment in management of Barrett's esophagus. Dig Dis Sci. 1999 Apr;44(4):659-67.
Lambert R. Diagnosis of esophagogastric tumors: a trend toward virtual biopsy. Endoscopy. 1999 Jan;31(1):38-46.
Falk GW. Endoscopic surveillance of Barrett's esophagus: risk stratification and cancer risk. Gastrointest Endosc.
1999 Mar;49(3 Pt 2):S29-34.
Kubba AK. Role of photodynamic therapy in the management of gastrointestinal cancer. Digestion. 1999 Jan-Feb;60(1):1-10.
ESFAGO - Outras Doenas do Esfago
93
SECO I - ESFAGO
CAPTULO IV
OUTRAS DOENAS DO ESFAGO
1. Esofagite Castica
2. Leses Induzidas por Frmacos
3. Esofagite Infecciosa
93
Doenas do Aparelho Digestivo
1. ESOFAGITE CUSTICA
INCIDNCIA
A maioria das ingestes custicas ocorre em crianas. Um estudo dinamarqus, apon-
ta uma incidncia peditrica de 34.6/100.000. A ingesto custica no adulto menos
comum e quase sempre associada a tentativa de suicdio (92% num estudo recente
em Frana). Na ndia, a ingesto de agentes corrosivos uma forma usual de enve-
nenamento.
PATOFISIOLOGIA
Os agentes custicos so cidos ou alcalinos fortes, que integram sobretudo deter-
gentes e produtos de limpeza industrial ou domstica. Os mais frequentemente asso-
ciados esofagite custica so: hidrxido de sdio, hipocloreto de sdio, lisol, fenol,
amnia, sais de potssio, cido actico, cido lctico, cido sulfrico, cido clordri-
co, aldeido frmico, lixvia, iodo e perxido de hidrognio.
A sequncia de eventos lesionais pela ingesto de alcalinos, designadamente lixvia,
a seguinte: (a) edema e congesto, sobretudo da submucosa; (b) inflamao da sub-
mucosa com trombose dos vasos; (c) esfacelamento das camadas superficiais; (d)
organizao e fibrose das camadas profundas; e (f ) reepitelizao tardia. Usualmente
s queimaduras circulares originam estenoses. Dentro de 3-4 semanas aps a agres-
so inicial, o colagnio entretanto depositado comea a contrair-se, iniciando-se o
processo de cicatrizao. Quando a necrose de liquefaco transmural, pode ocor-
rer perfurao esofgica.
A extenso das leses depende de dois factores: concentrao do agente corrosivo e
durao da exposio. Quanto mais o pH do agente alcalino se aproxima de 14, maior
o risco de leses severas. Os locais mais atingidos so as zonas anatmicas de estrei-
tamento do esfago: a) cricofarngeo, (b) arco artico e (c) crdia.
A agresso esofgica por agentes cidos menos frequente do que por alcalinos. O
mecanismo de agresso difere, havendo predomnio de necrose de coagulao e rpi-
da formao de tecido escarificado, que atrasa a progresso da necrose para os pla-
nos profundos. Alm disso, a maioria dos cidos tm um tempo de transito esofgi-
co acelerado, limitando a oportunidade de agresso. As leses gstricas podem ser
severas.
ESFAGO - Outras Doenas do Esfago
95
AVALIAO
A histria clnica essencial. A ingesto custica pode dar sinais e sintomas muito
variados. No h usualmente correlao entre a severidade das queixas e a extenso
lesional. Cerca de 10% dos doentes com leses significativas, no evidenciam sinais
ou sintomas precoces. Por outro lado, at 70% dos doentes com queimaduras orais
e da orofaringe, no apresentam leses distais significativas.
O exame endoscpio o estudo mais valioso para avaliar o trauma custico do es-
fago. Essencial evitar a perfurao iatrognica da parede esofgica fragilizada. A
endoscopia deve realizar-se exclusivamente com fins de diagnstico, idealmente nas
primeiras 24 horas.
Os achados endoscpicos detectados na ingesto de agentes custicos, encontram-se
descritos no quadro seguinte:
Doenas do Aparelho Digestivo
96
ACHADOS ENDOSCPICOS NA INGESTO DE CUSTICOS
Grau I Esofagite no ulcerada
Eritema e edema da mucosa
Grau II Ulceraes superficiais a profundas, com possivel
extenso muscular.
Exsudato branco
Eritema severo
Grau III Ulcerao profunda com possvel perfurao.
Tecido transmural enegrecido.
Pouca mucosa residual.
Possvel obliterao do lmen.
SINTOMAS/SINAIS LIGEIROS/MODERADOS DE INGESTO CUSTICA
Oral/Faringe Laringe Esfago Estmago
Dor Rouquido Disfagia Dor abdominal
Odinofagia Afonia Odinofagia Vmitos
Ulcerao Estridor Dor torcica Hemorragia
Edema da lngua Dor dorsal
Hipersalivao
SINAIS/SINTOMAS SEVEROS DE INGESTO CUSTICA
VIAS RESPIRATRIAS (obstruo) ASPIRAO PERFURAO
Estridor Tosse Dor
Agitao Hipoxia Taquicardia
Cianose Febre Febre
Hipoxia Leucocitose Leucocitose
Choque
Nos estdios iniciais da agresso, importante realizar um estudo radiolgico do
trax. Pode revelar sinais de aspirao ou de perfurao do esfago (pneumotrax,
pneumomediastino, enfisema subcutneo).
O esofagograma contrastado tem interesse na fase inicial sobretudo para excluso da
hiptese de perfurao. Os estudos contrastados do esfago so muito mais impor-
tantes em estdios ulteriores, na avaliao e planificao do tratamento. Leses este-
nticas podem comear a ser visualizadas radiolgicamente 10-15 dias aps a inges-
to do custico.
TRATAMENTO
Hospitalizao para todos os doentes com suspeita de leses srias. Administrar flui-
dos e antibiticos. Se prescritos precocemente, os corticides podem reduzir o edema
nas vias respiratrias. Traqueotomia de emergncia no caso de obstruo progressiva
das vias areas superiores.
Aps estabilizao, realizar esofagoscopia dentro de 24 horas. O tratamento ento
baseado na situao clnica e nos achados endoscpicos. No h necessidade de trata-
mento em leses de grau I. O doente retoma fluidos orais logo que sejam tolerados.
Deve realizar esofagoscopia ou RX do esfago cerca de 3 semanas aps a agresso.
- Nas leses de grau II ou III:
a) NUTRIO oral se o doente pode deglutir. Se no for o caso, nutrio parente-
ral, ou introduo cuidadosa de sonda naso-gstrica, ou gastrostomia.
b) ESTERIDES. Persiste a controvrsia quanto oportunidade da administrao
de esterides. Numa recente reviso de 13 estudos (10 retrospectivos), concluiu-
se que os esterides podem ser benficos, avanando-se com as seguintes
sugestes: (1) os esterides so desnecessrios nas queimaduras de grau I; no
so benficos, sendo mesmo potencialmente perigosos nas leses de grau III
(risco de perfurao); devem ser administrados precocemente e em doses ele-
vadas (prednisona 2 mgr/kg/dia, ou seu equivalente); deve administrar-se con-
comitantemente antibioterpia; deve associar-se a prescrio de sucralfato e de
inibidores cidos.
c) PRTESE. A mais fcil e simples a sonda naso-gstrica, colocada com auxilio
do endoscpio. Pode prevenir a formao de estenoses e facilita a nutrio.
Alguns autores defendem a introduo precoce de prteses intraluminais mais
largas (de silicone-borracha, ou silastic), colocadas endoscopicamente ou atra-
vs de gastrostomia.
d) DILATAO. o tratamento inicial de estenoses esofgicas secundrias. Quando
existem mltiplos e extensos segmentos estenticos, ou quando a estenose
envolve a juno esofagogstrica, pode considerar-se a dilatao retrgrada,
utilizando a tcnica de Tucker, que envolve uma gastrostomia.
ESFAGO - Outras Doenas do Esfago
97
e) CIRURGIA. Pode realizar-se de emergncia , para tratar necrose esofagogstrica
ou perfurao, ou mais tardiamente com objectivos de reconstruo, com enxer-
tos vascularizados do estmago ou do intestino. Recentemente tm-se utiliza-
do enxertos do jejuno para reconstruo total do esfago, com bons resultados.
- No quadro seguinte, faz-se uma sinopse da abordagem do doente com ingesto
custica:
ALGORITMO DE ABORDAGEM NA INGESTO CUSTICA
AVALIAO INICIAL
Sintomas persistentes
Leses orais
Leses na hipofaringe
Volume e concentrao
do custico ingerido
HOSPITALIZAO
ENDOSCOPIA
Leses de grau I
Sem leses
Leses de grau
II ou III
ALIMENTAO ORAL
OBSERVAO
SONDA NG
ANTIBITICOS
(1-3 semanas)
Rx ESFAGO
ESTERIDES (?)
NUTRIO ALTERNATIVA
Leso transmural
determinada/confirmada
por endoscopia e Rx
ESOFAGOGASTRECTOMIA
OU
ESOFAGOTOMIA/JEJUNOSTOMIA
Sem leses orais
Leses orais discretas
Assintomtico
Observao
Sem hospitalizao
Doenas do Aparelho Digestivo
98
2. LESES INDUZIDAS POR FRMACOS
Os agentes mais frequentemente relacionados com agresso da mucosa esofgica
so: antibiticos (sobretudo a doxiciclina), cloreto de potssio, sulfato ferroso, aspi-
rina e AINES, quinidina e alendronato (crescentemente prescrito na osteoporose).
A incidncia destas leses iatrognicas tem aumentado, sobretudo no idoso. Os facto-
res de risco so mltiplos, incluindo: atraso no esvaziamento esofgico, idade avana-
da, deglutio de frmacos em posio recostada/deitada e hipertrofia auricular.
A agresso da mucosa esofgica por preparados orais relaciona-se com a farmacoci-
ntica do frmaco: pH baixo (tetraciclinas, cido ascrbico, sulfato ferroso), acumula-
o na camada basal do epitlio escamoso (AINEs), hiperosmolaridade local (pots-
sio) e induo de refluxo gastro-esofgico (agentes anticolinrgicos).
A relao temporal entre a ingesto do frmaco e a ocorrncia dos sintomas muito
varivel. A odinofagia e a dor torcica e retroesternal, os dois sintomas mais comuns,
podem ocorrer quase imediatamente ou vrios dias aps a suspenso da droga. Este
atraso pode ser devido necrose de coagulao determinada pelo agente agressor ,
que temporariamente bloqueia a dor.
O exame endoscpico o melhor meio de diagnstico revelando ulceraes com ou
sem inflamao. Estes achados tm de ser enquadrados na histria clnica recente.
Quanto ao tratamento, a primeira medida suspender o agente agressor.
Tradicionalmente prescrevem-se anticidos, inibidores H2 ou IBP (inibidores da bomba
de protes).
Uma medida preventiva essencial a toma de medicamentos na posio erecta, com
adequada ingesto de fluidos.
3. ESOFAGITE INFECCIOSA
A.CANDIDASE
A esofagite por candida a causa mais frequente de sintomas esofgicos em doen-
tes com sida, sendo diagnosticada em cerca de 50% dos casos de esofagite infeccio-
sa nesta doena. Frequentemente ocorre co-infeco com outros microorganismos,
designadamente vrus.
A candidase tambm a infeco esofgica mais frequente em indivduos HIV-nega-
tivos. A candida um microorganismo comensal detectado na cavidade oral e no trac-
to gastrointestinal da maioria dos indivduos saudveis. Contudo, em situaes de
diminuio das defesas do organismos (por ex. diabetes, hipotiroidismo, corticoter-
pia, linfoma, leucemia), ou quando se altera a ecologia da flora orofarngea, designa-
ESFAGO - Outras Doenas do Esfago
99
damente pelo uso de antibiticos, a candida pode invadir os tecidos, sendo a orofa-
ringe e o esfago os locais mais afectados
A infeco usualmente local, havendo no entanto o risco potencial de disseminao
sangunea com desenvolvimento de endocardite, sepsis ou meningite. A manifestao
clnica mais frequente a odinofagia (referida em cerca de 50% dos casos), seguida
de disfagia. Alguns doentes so totalmente assintomticos.
O diagnstico de eleio a esofagoscopia, que particularmente til nos doentes
HIV-positivos porque as bipsias podem identificar possveis infeces mltiplas. O
achado endoscpico tpico a visualizao de placas esbranquiadas aderentes a uma
mucosa congestionada, frivel e edemaciada. O exame citolgico do exsudato revela
a presena do miclio ou de formas fngicas.
O tratamento em pessoas no imunodeprimidas tpico: 10 ml de nistatina (100.000
U/ml), quatro vezes/dia, durante uma semana. Nos doentes com compromisso imuni-
trio, a teraputica sistmica: 4-8 semanas de Ketoconazole (200 mgr/dia), flucona-
zole (100 mgr/dia) ou iatraconazole (200 mgr/dia).
B.HERPES SIMPLEX
O vrus do herpes simplex pode originar um quadro de esofagite ulcerada aguda
sobretudo em doentes imunodeprimidos, mas tambm em doentes idosos ou debili-
tados.
Os sintomas desta infeco so similares aos da candidase. Em cerca de 20% dos
doentes pode ocorrer hemorragia gastrointestinal.
O exame endoscpico pode revelar lceras superficiais, discretas, com um fundo bran-
co. Por vezes coexistem a candidase e a infeco pelo herpes simplex. Na bipsia, os
achados tpicos consistem em incluses intranucleares eosinoflicas, balonizao e
clulas gigantes multinucleadas. O diagnstico confirmado por cultura.
No jvem e no indivduo saudvel o quadro clnico auto-limitado, com resoluo
dentro de 10-12 dias aps o incio do tratamento sintomtico.
Nos doentes imunodeprimidos, a esofagite por vrus do herpes simplex pode ter rele-
vncia, pela disseminao potencial da infeco e desenvolvimento possvel de ence-
falite, pneumonia e necrose heptica ou adrenal. Quando se receia disseminao do
processo, deve administrar-se aciclovir (parenteral ou tpico). A dose recomendada
de 5 mgr/kg cada 8 horas. Nos casos refractrios, recomenda-se a administrao de
foscarnet (60 mgr/kg cada 8 horas).
C. VIRUS CITOMEGLICO
uma infeco esofgica detectada em 10-30% dos doentes com HIV. Os sintomas cl-
Doenas do Aparelho Digestivo
100
nicos so similares aos do herpes simplex. Os achados endoscpicos so variados:
ulceraes extensas, isoladas ou mltiplas, esofagite exsudativa ou massas polipi-
des. O diagnstico baseia-se no exame endoscpico com cultura das bipsias. O estu-
do imunohistoqumico pode ser til na confirmao do diagnstico.
A teraputica sugerida a administrao de ganciclovir (5 mgr/kg iv, 2 vezes/dia),
durante 2-3 semanas.
ESFAGO - Outras Doenas do Esfago
101
Doenas do Aparelho Digestivo
102
REFERNCIAS
Spiegel JR, Sataloff RT. Caustic injuries of the esophagus. In: Castell DO, Richter JE (Eds). The Esophagus.
Lippincott Williams & Wilkins 1999: 557-564.
Legrand C, Le Rhun M, Bouvier S. Prise en charge des ingestions de caustiques. Hepato-gastro 1997; 4 (6): 483-493.
Zarger SA, Kochhar R, Nazi B et al. Ingestion of strong corrosive alkalis: spectrum of injury to upper gastrointestinal tract and natural his-
tory. Am J Gastroenterol 1992; 87:337.
Zarger SA, Kochhar, Nazi B et al. Ingestion of corrosive acids. Gastroenterology 1989; 97:702.
Spirt MJ. Gastrointestinal foreign bodies and caustic ingestions. In: Spirt MJ (Ed). Acute Care of the Abdomen.
Williams & Wilkins 1998: 187-200.
Cello JO, Fogel RP, Boland CR. Liquid caustic injury: spectrum of injury. Arch Int Med 1980; 140: 501-504.
Oakes DD. Reconsidering the diagnosis and treatment of patients following the ingestionof of liquid lye.
J Clin. Gastroenterol 1994; 19 (4): 303-305.
Zargar AS, Kochhar R, Mehta S et al. The role of fiberoptic endoscopy in the management of corrosive ingestion and modified endoscopic
classificatian of burns. Gastrointest Endosc 1991; 37: 165-169.
Chondhr, Boyce HUV. Treatment of esophageal disorders caused by medications, caustic ingestion, foreign bodies and trauma.
In: Wolfe MM (Ed). Therapy of Digestive Disorders. WB Saunders Co 2000: 37-53
Bott S, Prakash C, Mc Callum RW. Medication-induced esophageal injury: survey of the Literature. Am J. Gastroenterol 1987; 82:758.
Zein NN, Grseth IN, Perrault J. Endoscopic intra lesional injections in the management of refractory esophageal strictures.
Gastrointest Endosc 41: 596, 1995.
Arif A, Karetzky MS. Complications of caustic ingestion. N Engl J Med 1991; 88:201.
Kikendall JW. Pill-induced esophagea linjury. Gastroenterolo. Clin N Am. 1991; 20:835.
Baehr PH, Mc Donald GB. Esophageal infections: risk factors, presentation, diagnosis and treatment. Gastroenterology 1994; 106: 509-532.
Loeb P.M., Eisenstein AM. Caustic injury to the upper gastrointestinal tract. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds).
Sleisenger & Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease. W.B. Saunders Co 1998: 335-342.
Baehr PH, Mc Donald G.B. Esophageal disorders caused by infection, systemic illness, medications, radiation and trauma. In: Feldman M,
Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds). Sleisenger & Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease. W.B. Saunders Co 1998: 519-539.
Poas, FC, Saraiva MM, Allegro S, Pinho C. Leses casticas do tubo digestivo superior. Experincia de 8 anos. GE J Port Gastroenterol 1998;
5 (1): 34-41.
Lovejoy FH. Corrosive injury of the esophagus in children. Failure of corticosteroid treatment reemphasizes prevention.
N Engl J Med 1990; 323: 688.
Marie JP, Dehesdin D. Stnoses caustiques de l?sophage. Le front de la Mdecine. Rev. Prat 1992 : 42 (6): 735-739.
SECO II
ESTMAGO E DUODENO
Doenas do Aparelho Digestivo
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
105
SECO II - ESTMAGO E DUODENO
CAPTULO V
INFECO PELO HELICOBACTER PYLORI
1. Taxonomia e Bacteriologia
2. Epidemiologia
3. Virulncia e Patogenicidade
4. Histria Natural
5. Diagnstico
6. Tratamento
105
Doenas do Aparelho Digestivo
1. TAXONOMIA E BACTERIOLOGIA
O microorganismo actualmente designado de Helicobacter pylori foi introduzido
comunidade cientfica por Marshall e Warren, em 1982. Pensou-se, inicialmente, que
pertenceria ao gnero Campylobacter, pelo que foi apelidado de Campylobacter pylo-
ridis (do grupo pylorus = porteiro), corrigido mais tarde para Campylobacter pylori.
No entanto, estudos genticos posteriores diferenciaram o microorganismo da esp-
cie Campylobacter, e incluram-no na espcie Helicobacter.
O Helicobacter pylori (Hp) uma bactria em forma de basto, espiralada ou encur-
vada, com cerca de 0.5 m de dimetro e 3-5 m de comprimento. Possui caracters-
ticas ultraestruturais de bactria gram-negativa. Apresenta 4 a 7 flagelos revestidos
nos plos, que possibilitam a sua mobilidade em meios viscosos como o muco gs-
trico. Esta mobilidade essencial para a colonizao bacteriana.
O Hp uma bactria urease, catalase e oxidase positiva. A actividade da urease par-
ticularmente significativa, possibilitando designadamente o diagnstico da infeco.
hoje reconhecido que esta enzima importante para a colonizao e sobrevida da
bactria no estmago. A hidrlise da ureia em amnia, por aco da urease, teria um
efeito tampo, protegendo a bactria do meio cido. A urease tambm considerada
um importante factor de virulncia, induzindo leses tissulares ou alterando a respos-
ta imunolgica.
Outras caractersticas bioqumicas do Hp incluem a sua incapacidade na reduo de
nitratos e na hidrlise do hipurato e do indoxil acetato. Exibe, por outro lado, activi-
dades da fosfatase alcalina e da gama-GT.
O Hp resistente ao cido nalidxico, sulfonamidas, trimetoprina e vancomicina, e
sensvel penicilina, ampicilina, cefalotina, kanamicina, gentamicina, rifaprim e tetra-
ciclina. varivel a resistncia ao metronidazol e claritromicina. Esta sensibilidade
microbiana in vitro, nem sempre observada in vivo.
Outras caractersticas desta bactria so descritas adiante, no captulo Virulncia e
patogenicidade.
2. EPIDEMIOLOGIA
A incidncia anual da infeco pelo Hp tem sido estudada em vrios pases, no adul-
to e na criana. No adulto, apontam-se taxas de incidncia entre 0.1% a 1.1%. Estudos
realizados em crianas reportam 1.9% como taxa mais elevada. Aceita-se actualmente
que nos adultos dos pases desenvolvidos, a taxa de nova infeco no muito supe-
rior a 1%/ano. Esta baixa incidncia no tem permitido extrair concluses relativamen-
te aos mecanismos de transmisso e aos factores de risco.
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
107
mais comum do que se pensava o desaparecimento da infeco, determinado pela
seroconverso de positivo em negativo. Em vrios estudos realizados, a proporo de
indivduos que se tornaram seronegativos, foi definida entre 2.5%, ao longo de um
perodo de follow-up de 3 anos, e 22%, para um perodo de controle de 12 anos. Em
nenhum desses estudos se promoveu o tratamento da infeco. A perda da infeco
ocorreu, nalguns casos, com a progresso da gastrite crnica para leses de atrofia
severa do corpo gstrico.
Mltiplos estudos tm evidenciado que a infeco pelo Hp universal, com cerca de
50% da populao mundial infectada. No entanto, existem diferenas geogrficas no
tocante prevalncia da infeco. De um modo geral, esta menor em pases desen-
volvidos, sobretudo nos escales etrios mais baixos. Dentro de cada pas, podem
existir considerveis diferenas de prevalncia em funo dos grupos tnicos. Por
outro lado, a infeco Hp tem sido associada, consistentemente, a um estatuto socio-
econmico mais desfavorecido.
Nos pases desenvolvidos, com adequada higiene sanitria pblica, pensa-se que as
principais vias de contgio so a fecal-oral e a oral-oral. Estes mecanismos de expo-
sio explicariam a elevada taxa de infeco em crianas, particularmente com idade
inferior a 5 anos, e a menor taxa de infeco nos adultos. No entanto, ainda no exis-
te evidncia directa quanto ao modo de transmisso do Hp. No existe evidncia de
transmisso sexual. Em pases em desenvolvimento, admite-se a possibilidade de
exposio a guas e alimentos contaminados.
Se o mecanismo de transmisso no est ainda clarificado, mais nebulosa a expli-
cao da susceptibilidade individual infeco aguda e sua perpetuao crnica no
hospedeiro. Julga-se que factores genticos e ambientais contribuem para o mecanis-
mo da susceptibilidade.
A infeco Hp tende a declinar em todo o mundo, e mais rapidamente nos pases
desenvolvidos. Este declnio ocorre sem nenhum esforo da sade pblica no senti-
do de combater esta infeco. O advento de uma vacina acelerar ainda mais a dimi-
nuio da prevalncia e da incidncia desta infeco. um cenrio promissor, atenta
a relao indiscutvel do Hp com a lcera pptica, e certamente tambm com o can-
cro do estmago.
3. VIRULNCIA E PATOGENICIDADE
A infeco pelo Hp deve ser a mais comum infeco crnica a nvel mundial. Desde a
sua descoberta e cultura bem sucedida, nos princpios da dcada de 80, tornou-se
evidente que a infeco importante na iniciao de gastrite, e no desenvolvimento
de numerosas manifestaes gastroduodenais. De facto, as consequncias fisiopato-
Doenas do Aparelho Digestivo
108
lgicas desta infeco, incluem a gastrite (sistematicamente), a lcera duodenal, a
lcera gstrica, o carcinoma gstrico e o linfoma MALT (gastric mucosa-associated
lymphoid tissue). A infeco Hp, por si s, parece ser insuficiente para explicar o
amplo espectro de doenas que lhe esto associadas. Os dados correntes sugerem
que a patogenicidade do Hp depende de factores bacterianos e do hospedeiro. A viru-
lncia deste agente infeccioso baseia-se em factores que viabilizam a sua colonizao
e adaptao ao meio gstrico, e a estimulao de mediadores da inflamao que con-
tribuem para as alteraes fisiolgicas e histolgicas que ocorrem na mucosa gastro-
bulbar. Os factores bacterianos e do hospedeiro relacionados com a patognese gas-
troduodenal encontram-se identificados no quadro seguinte:
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
109
Permanentes Citocinas
- Urease Factores de crescimento
- Flagelinas Antignios Lewis
- Adesinas MHC ** classe II
Presena varivel Secreo cida
- CagA Produo de muco
- CagA PAI * Barreira epitelial
- Alelos do VacA
- Variantes do iceA
- Antignios Lewis
H. pylori Hospedeiro
* Ilhu de patogenicidade
** Complexo major de histocompatibilidade
FACTORES BACTERIANOS E DO HOSPEDEIRO NA PATOGNESE GASTRODUODENAL
FACTORES PERMANENTES DO HP
(a) Urease
A urease do Hp joga um papel significativo na colonizao e adaptao ao meio cido
gstrico. A urease no s protege o microorganismo do ambiente circunstante, mas
poder ser essencial, conjuntamente com outros factores, para iniciar e perpetuar a
infeco crnica no hospedeiro.
A urease localiza-se na superfcie extra-celular do Hp, como no seu citoplasma. No
momento actual, a autlise bacteriana o nico mecanismo proposto para a liberta-
o da urease.
(b) Flagelinas
A motilidade uma das caractersticas do Hp necessrias para o xito da sua colo-
nizao. O Hp atravessa a barreira do muco superficial, penetrando at aderir ou apro-
ximar-se do epitlio gstrico. Dois genes das flagelinas codificam as flaA e flaB que
compem os filamentos dos flagelos, sendo ambos necessrios para a motilidade acti-
va da bactria.
(c) Adesinas
A patogenicidade do Hp tem sido associada aderncia activa da bactria ao epit-
lio gstrico. Os antignios Lewis dos lipopolissacardeos do Hp, tm grande similitu-
de com os do epitlio gstrico e podem expressar os determinantes Lea e Lex. A
expresso de antignios Lewis pelo Hp parece mimetizar as glicomolculas de super-
fcie presentes na superfcie gstrica e nas regies epiteliais glandulares, circunstn-
cia que pode ajudar a evitar os mecanismos de defesa do hospedeiro e a coloniza-
o selectiva. Esse mimetismo pode tambm permitir a adaptao da bactria a zonas
especficas do meio gstrico, e ser importante nas consequncias fisiopatolgicas da
infeco.
GENTIPOS DO HP
Todos os indivduos infectados pelo Hp exibem um quadro de gastrite crnica activa,
mas s uma fraco desenvolve manifestaes clnicas significativas, designadamen-
te lcera pptica ou carcinoma gstrico. A questo que ento se coloca saber se
existem gentipos do Hp particularmente virulentos, que estejam especficamente cor-
relacionados com o desenvolvimento de determinadas patologias. Apesar de se terem
clonado e caracterizado, nos ltimos anos, um nmero crescente de genes do Hp, s
os genes cagA, vacA e iceA foram identificados como genes cuja presena sugere espe-
cificidade para certas patologias.
Gene cagA
O gene cagA (cytotoxin-associated gene A) um marcador do ilhu de patogenicida-
de (PAI). O cagPAI uma regio genmica que contm 25-30 genes importantes para
o aumento da inflamao e para a secreo de produtos genticos associados viru-
lncia. As estirpes de Hp com o segmento cagPAI completo, teriam a propriedade de
estimular a interleucina (IL)-8, recrutar neutrfilos e intervir na fosforilao da tirosi-
na.
O produto expresso pelo gene cagA, denominado CagA, altamente imunognico.
Esta protena associa-se, segundo muitos estudos, a sindromas clnicos mais severos,
aumentando designadamente o risco de lcera pptica e o cancro gstrico. H outros
trabalhos, no entanto, que no evidenciam uma relao preferencial do gene cagA
com patologias especficas.
O gene cagA est fortemente associado lcera duodenal, mas tambm ao cancro
gstrico, conforme evidenciam vrios estudos. Sendo estas duas doenas praticamen-
te mutuamente exclusivas, deve existir heterogeneidade dentro do gene cagA. De
facto, num estudo realizado na Coreia, verificou-se que as regies 5 e 3 do gene cagA
Doenas do Aparelho Digestivo
110
eram muito diferentes das isoladas em doentes de pases ocidentais. Esse estudo
tambm revelou a ausncia de associao entre o gene cagA e a apresentao de
doenas especificas.
A presena frequente do gene cagA em estirpes do Hp isoladas em doentes com pato-
logias variadas, sugere que o cagPAI representaria uma regio gentica virulenta no
especfica.
Gene vacA
O gene vacA (vacuolating cytotoxin A) est presente em quase todas as estirpes de
Hp, mas expresso somente em cerca de metade dos doentes infectados. A expres-
so da protena VacA est associada a processos de vacuolizao de muitas linhas
celulares eucariticas. Tm sido classificados diferentes alelos na regio 5 (regio
s) e na regio mdia (regio m) do gene vacA. A regio-s apresenta-se como s1 (com
subtipos s1a, s1b, s1c) ou s2, enquanto que a regio-m se apresenta como m1 ou m2.
A produo da citotoxina vacuolisante vacA designada pela combinao allica s1/m1
e s1/m2.
Em muitos estudos, estirpes isoladas de Hp com a combinao s1/m1, produzem maio-
res quantidades da toxina do que estirpes com outras combinaes, e so isoladas
mais frequentemente em doentes com lcera pptica. Basso et al, encontraram uma
correlao significativa de cagA e vacA s1 em doentes italianos com cancro gstrico e
lcera pptica, em comparao com doentes que apresentavam unicamente quadros
de gastrite por infeco Hp.
Gene iceA
O gene iceA (induced by contact with epithelium) tem uma estrutura gentica similar
endonuclease de restrio. A heterogenicidade deste gene traduz-se, nomeadamen-
te, pela existncia de variantes allicas, classificadas de iceA1 e iceA2. A variante iceA1
tem sido apontada como marcador de predisposio aumentada para lcera pptica.
No entanto, a sua presena no especfica para lcera duodenal v. lcera gstrica.
Este gene ainda no est suficientemente estudado, permanecendo incerta a sua rela-
o com doenas especficas.
DISTRIBUIO GEOGRFICA DE ESTIRPES HP
Vrios trabalhos tm evidenciado que distintas populaes de Hp devem circular em
diferentes regies geogrficas. De facto, comprovou-se que existem variaes allicas
no gene cagA com diferentes gentipos circulando nomeadamente na China e na
Holanda. Tambm mediante estudos com PCR, foi apurada uma diferena estrutural
no gene cagA, entre populaes da Coreia e de Houston (USA).
No tocante ao gene vacA, ao serem examinados os seus subtipos e a associao com
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
111
doenas gastrointestinais especficas, observaram-se discrepncias designadamente
entre os pases desenvolvidos e em desenvolvimento. Por exemplo, Doorn et al, estu-
dando a distribuio geogrfica dos tipos allicos do vacA em 24 pases, confirmaram
a presena frequente do vacA s1a e s1b na Europa e na Amrica do Norte; o vacA s1b
foi detectado na maioria das estirpes da Amrica do Sul, enquanto que o vacA s1a
predominava na sia. Estes dados suportam a noo de que as variaes geogrficas
na prevalncia de doenas associadas ao Hp, podem ser reflexo do tipo de estirpes
Hp numa dada regio do globo.
FACTORES DO HOSPEDEIRO NA PATOGNESE GASTRODUODENAL
Tem sido extensa a investigao no sentido de clarificar o papel de factores do hos-
pedeiro na infeco e doenas associadas. Os principais aspectos estudados so:
(a) Interaces com clulas epiteliais gstricas
As clulas epiteliais expressam molculas que servem de receptores Hp, designada-
mente os antignios Lewis e os antignios de histocompatibilidade major classe II
(MHC). A activao das clulas pelo Hp, resulta em alteraes da sua funo e do seu
fentipo, induzindo a expresso de citocinas, de factores do crescimento e de prote-
nas que mediatizam interaces com outros tipos celulares.
(b) Citocinas e factores de crescimento
A infeco Hp induz aumento dos nveis de IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-a na mucosa gstri-
ca. de sublinhar que a ausncia total de cagPAI determina a no produo de IL-8,
uma quimoquina activadora de neutrfilos. O Hp promove ainda o aumento de outras
quimoquinas na mucosa gstrica, designadamente Gro-a, MCP-1, RANTES e outros
membros da famlia C-C das quimoquinas. Estas ltimas exercem a sua aco noutros
tipos celulares (linfcitos, moncitos e eosinfilos) e menos nos neutrfilos.
Os factores de crescimento e seus receptores, que mediam o crescimento das clulas
epiteliais e a sua reparao, tambm se encontram alterados pelo infeco Hp. As
estirpes vacA positivas, inibem a sntese e fosforilao dos receptores do factor epi-
drmico do crescimento. Esta uma rea que tem suscitado ultimamente o interesse
da pesquisa cientfica.
(c) Molculas celulares de superfcie
As clulas epiteliais gstricas expressam muitas molculas envolvidas na interaco
com neutrfilos e linfcitos. As MHC classe II esto envolvidas na apresentao de
antignios exgenos aos linfcitos TCD4+. Estudos recentes evidenciam que o Hp liga-
se s molculas MHC da classe II, para estimular a apoptose, provavelmente median-
te a interveno da urease.
Doenas do Aparelho Digestivo
112
Outras molculas so expressas pelas clulas epiteliais gstricas para regular interac-
es imunitrias durante a infeco Hp. o caso das molculas de adeso ICAM-1
(CD54) e dos antignios Lewis.
(d) Alterao da funo celular
A secreo cida, a principal funo do epitlio gstrico, pode alterar-se pela infeco
Hp. De facto, tm sido detectados nveis elevados da gastrinmia basal ou ps-esti-
mulao em doentes com infeco Hp, havendo evidncia de que a expresso da gas-
trina regulada por factores bacterianos e por citocinas. Tambm se regista, nos indi-
vduos infectados, uma diminuio da expresso da somatostatina, um peptdeo ini-
bidor da secreo cida, assim como da secreo do bicarbonato duodenal.
A secreo de muco outra importante funo do epitlio gstrico. A infeco Hp
reduz a secreo de muco nas 24 horas, bem como a hidrofobicidade da mucosa gs-
trica. Por outro lado, h estudos que evidenciam alteraes na permeabilidade da bar-
reira gstrica em indivduos infectados pelo Hp.
(e) Alterao no crescimento celular
Estudos realizados em portadores de infeco Hp, indicam um aumento da prolifera-
o epitelial gstrica, com normalizao aps erradicao da infeco. No entanto,
estudos realizados in vitro, em linhas celulares, indicam um efeito inibidor do Hp no
crescimento epitelial com atraso na reparao. provvel que factores libertados por
outros tipos celulares da mucosa gstrica, expliquem esta diferena de proliferao
entre o material de bipsia e a cultura de clulas. Certas citocinas e os factores de
crescimento so potenciais factores estimuladores da proliferao. Pode especular-se
que o balano das influncias inibitrias ou estimulantes no crescimento epitelial e
na diferenciao celular possam mediar o resultado final, nomeadamente o desenvol-
vimento de lcera, metaplasia intestinal e carcinoma gstrico.
A morte celular representa outro mecanismo de regulao do crescimento epitelial. A
apoptose, uma forma programada de morte celular, deficitria na carcinognese, e
excessiva na ulcerao, influenciada pelo Hp. Alguns estudos recentes evidenciam
que a infeco Hp aumenta a apoptose, no estando ainda bem esclarecidos os meca-
nismos desse evento.
(f) Interaco com clulas imunes
A infeco Hp um processo inflamatrio nico, na medida em que a infeco persis-
te apesar do recrutamento e activao de linfcitos T e B, clulas fagocitrias e outras
populaes celulares imunolgicas.
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
113
A acumulao de clulas T na mucosa gstrica de doentes infectados pelo Hp, reflec-
te o recrutamento e a activao destas clulas durante a infeco. Dos dois subtipos
de clulas T helper, ocorre na infeco Hp um predomnio das clulas Th1, que mediam
a resposta celular imunitria infeco intracelular e malignizao. Embora na infec-
o Hp se esperasse mais uma resposta de tipo Th2 (envolvida na resposta secreto-
ra imune da superfcie das mucosas e nas reaces alrgicas), esse evento no ocor-
re. A resposta predominante Th1 pode conduzir a leses mediadas pelo IF-gama e
pelas interaces Fas-FasL. Um desequilbrio entre Th1 e Th2 pode levar gerao de
processos autoimunes. A resposta Th1 particularmente deletria para o hospedeiro.
A infeco Hp induz a expresso epitelial de um painel de quimocinas, incluindo a
IL-8, que recruta e activa neutrfilos, fundamento do componente activo da gastrite
crnica activa que caracteriza a infeco Hp. Os neutrfilos e os macrfagos, em vez
de fagocitarem o Hp, contribuem para o agravamento da agresso atravs da gerao
de mediadores inflamatrios, incluindo eicosanides, ROS (reactive oxygen species),
e RNS (reactive nitrogen species), alm de citocinas, particularmente o TNF-.
Os trs principais tipos de leso celular resultantes dos efeitos dos ROS, so a pero-
xidao lipdica, a oxidao proteica e a oxidao do DNA. Pensa-se que estes media-
dores inflamatrios intervm na cancerizao
Na figura seguinte, adaptada de um trabalho de Go e Crowe (2000), esquematizam-
se os aspectos essenciais da interveno dos factores bacterianos e do hospedeiro na
induo da agresso mucosa gstrica:
Doenas do Aparelho Digestivo
114
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
115
LPS - Lipopolissacardeos
IFN-gama - Interfero gama
Il-2 - Interleucina 2
PMN - Polimorfonucleares
M - Macrfagos
T - Linfcitos T (sobretudo Th1)
B - Linfcitos B
ROS - reactive oxygen species
RNS - reactive nitrogen species
TNF- - Factor de necrose tumoral
* - designadamente IL-8
FACTORES BACTERIANOS E DO HOSPEDEIRO
NA INDUO DA AGRESSO GASTRODUODENAL
Lume
gastrobulbar
Adesinas
Epitlio
PMN
IFN-gama
Il-2
H. Pylori
ice A
Vac A
Cag A
Urease
Outros factores
LPS
B
T
C
IgG
C C
IgG
PMN
Lamina
propria
M
Quimocinas*
ROS
RNS
TNF-
4. HISTRIA NATURAL DA INFECO CRNICA POR HP
A histria natural da infeco pelo H. pylori encontra-se esquematizada no quadro
seguinte:
COMENTRIOS
A infeco inicia-se por um quadro de gastrite aguda, designadamente na infncia.
Esse quadro agudo pode reverter ou, mais frequentemente, originar um quadro histo-
lgico de gastrite crnica activa. A maioria dos indivduos com infeco crnica per-
manecem assintomticos ao longo da vida.
A lcera pptica desenvolve-se em cerca de um em seis indivduos infectados (ver
captulo lcera Pptica).
A gastrite atrfica, o adenocarcinoma gstrico e o linfoma gstrico MALT so seque-
las muito menos frequentes da infeco Hp (ver captulos Gastrite e Tumores do
Estmago).
muito controversa a relao entre a infeco Hp e a dispepsia funcional (ver cap-
tulo Dispepsia).
5. DIAGNSTICO DA INFECO HP
No quadro seguinte encontram-se indicados os mtodos actualmente disponveis para
o diagnstico da infeco pelo H. pylori:
lcera
duodenal
lcera
gstrica
Linfoma
Linfoma
Factores do ambiente
Gastrite aguda
Hp
Gastrite crnica
activa
Gastrite atrfica
multifocal
Cancro
Gstrico
Gastrite de
predomnio
antral
Doenas do Aparelho Digestivo
116
COMENTRIOS
(a)Diagnstico por bipsia gstrica
A bipsia endoscpica tem a vantagem de documentar a infeco Hp, definir o grau
de inflamao, e identificao patolgica associada, designadamente metaplasia intes-
tinal, cancro ou linfoma.
Embora considerado por muitos autores o gold standard no diagnstico da infeco
Hp, o exame histolgico exige a satisfao de vrios pressupostos para garantir a sua
eficcia. Os aspectos essenciais so: local, nmero e dimenso das bipsias, tipo de
colorao e experincia do anatomopatologista.
comummente assumido que as colheitas no antro so adequadas para demonstra-
o histolgica da infeco Hp. Esta asseverao errnea. A prevalncia e a densi-
dade da infeco Hp variam em funo da localizao gstrica. Segundo El-Zimaity, a
maior densidade de microorganismos localiza-se na zona crdica, seguida da peque-
na curvatura antral proximal (ngulo gstrico). Segundo este conceituado autor,
essencial colher pelo menos trs bipsias (uma na zona da incisura angularis, outra
na grande curvatura do corpo, e a terceira na grande curvatura do antro).
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
117
A. TESTES INVASIVOS (requerem exame endoscpico)
Exame histopatolgico de bipsias
Colorao qumica
(a) Com sais de prata
- Warthin-Starry
- Steiner
- Genta
- Outros
(b) Sem sais de prata
- Hematoxilina e eosina
- Giemsa
- Diff-Quick
- Acridina
- Outros (Gram, azul de metileno)
Colorao imunohistoqumica
Hibridizao in situ
Exame citolgico (esfregao, escova, toque) + Gram
Cultura bacteriana
PCR (Polimerase chain reaction)
Teste rpido da urease
B. TESTES NO INVASIVOS
Exame serolgico de imunoglobulinas
Teste respiratrio com ureia
Outros:
- Teste de excreo urinrio do 15NH4+
- PCR na saliva, placa dentria ou fezes
- Deteco de imunoglobulinas na saliva
- Deteco imunoenzimtica do Hp nas fezes
MTODOS DE DIAGNSTICO DA INFECO Hp
Quando existe metaplasia intestinal, reduz-se a eficcia na deteco da infeco,
sublinhando a importncia de se obterem fragmentos de bipsia do corpo e do antro.
A avaliao dos cortes histolgicos mediante colorao com hematoxilina e eosina,
proporciona resultados inconsistentes, recomendando-se, por isso, coloraes espe-
ciais. Muitos anatomopatologistas utilizam aquela colorao associada a uma segun-
da. As coloraes mais comummente utilizadas so: Warthin-Starry, Giemsa e Diff-
Quick. Outros preferem a colorao Genta, ou a tripla de El-Zimaity.
(b) Testes rpidos da urease
Os testes rpidos da urease exploram o facto de o Hp conter quantidades elevadas
desta enzima. Para realizar o teste, coloca-se um fragmento de bipsia endoscpica
num meio contendo ureia e um indicador de pH. A urease produzida pelo Hp eleva o
pH, de tal modo que o indicador apropriado (por ex. vermelho do Congo) muda de
cor em pouco tempo.
Existem actualmente mltiplos testes rpidos da urease, uns utilizando como substra-
to um gel, outros papel e ainda outros um comprimido.
O prottipo do gel teste, o CLOtest, que consiste numa quantidade tamponada de
gel contendo ureia e um indicador de pH, com agentes bacteriostticos para preven-
o do crescimento do Hp ou de outros agentes produtores de urease. Quando a bi-
psia inserida no gel, no muda de cor a no ser que contenha urease. Neste caso,
detecta-se dentro de pouco tempo uma alterao da cor (de amarelo passa a verme-
lho), indicando a presena de Hp.
Alm do CLOtest, h vrios tipos de gel teste: HUT-test, PyloriTek, HpFast, com sensi-
bilidades no adulto entre 88-98%, e especificidades entre 92-99%.
Os testes que utilizam o papel contendo os reagentes usuais da urease (ureia, indi-
cador de pH e tampo), designadamente o PyloriTek test, ou os que incorporam esses
reagentes num comprimido, apresentam taxas de sensibilidade e de especificidade
praticamente sobreponveis aos testes com base em gel.
Falsos positivos dos testes rpidos da urease podem ocorrer, embora raramente.
Causas: medicao com inibidores da bomba de protes (IBP) que pode ocasional-
mente originar a proliferao de agentes bacterianos (Proteus ou Klebsiella) produto-
res de urease, ou infeco pelo Helicobacter heilmanni, tambm produtor de urease.
Falsos negativos tambm podem ocorrer, designadamente em situaes de acloridria,
situao que pode levar destruio do Hp pela sua prpria urease (suicdio).
Tambm nos doentes que tomam IBP, pode ocorrer uma diminuio significativa do
nmero de microorganismos, originando um teste negativo. O mesmo poder ocorrer
se o doente anda a tomar antibiticos, bismuto ou sucralfato.
(c) Cultura
Doenas do Aparelho Digestivo
118
Apesar de ser considerado, para muitos autores, o gold standard no diagnstico da
infeco Hp, a cultura no entrou na rotina clnica por variadas razes, relacionadas
com a preparao do doente, meios de transporte, processamento das bipsias, selec-
o dos meios de cultura e condies a que esta deve obedecer. Uma outra razo,
muito importante, a demora na obteno do resultado.
No entanto, a cultura do Hp importante porque: (1) permite investigar o seu cresci-
mento e o seu metabolismo; (2) possibilita um diagnstico seguro; (3) estabelece a
susceptibilidade a antibiticos; (4) identifica factores potenciais de virulncia.
(d) Testes serolgicos
O teste serolgico o mtodo mais comum de diagnstico no invasivo da infeco
Hp. A sensibilidade, a especificidade e o valor predizente deste teste, so parmetros
que dependem da prevalncia da infeco na populao testada. Por exemplo, numa
regio onde a prevalncia elevada, o teste serolgico resulta melhor do que numa
rea de prevalncia baixa, onde so mais frequentes os falsos positivos. Por isso, no
primeiro caso deve preferir-se um teste de elevada sensibilidade, ao passo que na
segunda situao mais apropriado um teste de elevada especificidade.
Estes testes baseiam-se no facto de a infeco Hp condicionar o aparecimento de anti-
corpos anti-Hp na circulao, que podem ser detectados por vrias tcnicas de sero-
diagnstico: aglutinao, fixao do complemento, hemaglutinao, ELISA, Western
blotting, imunofluorescncia, radioimunoensaio, aglutinao pelo latex e imunocro-
matografia.
Inicialmente, utilizava-se como antignio o Hp, na sua totalidade. Actualmente prepa-
ram-se antignios mais especficos deste microorganismo, nomeadamente o chamado
HM-CAP, que consiste sobretudo em urease e adesinas da parede do Hp. Todos os
testes serolgicos disponveis evidenciam taxas de acuidade entre 90-95%, sendo os
falsos positivos usualmente resultado da presena de anticorpos anti-Hp em indiv-
duos previamente curados da infeco.
Os mesmos antignios dos testes serolgicos convencionais, foram utilizados na
transferncia desta tecnologia para a manufactura de testes rpidos no soro ou no
sangue total, possibilitando a sua efectivao no momento da consulta e uma leitura
imediata do resultado. O primeiro desses testes, denominado Flexsure, foi rapidamen-
te seguido da comercializao de outros, nomeadamente o Pyloristat, o Pyloriset, o
Helisal EIA e o Hel-p. Entretanto, surgiram novos testes que detectam o Hp numa gota
de sangue total: Quidel, Helisal, Premier e Flexsure.
Habitualmente, os testes serolgicos efectuados por puno venosa evidenciam uma
acuidade de cerca de 90%, ao passo que os testes baseados na puno do dedo tm
uma acuidade menor, entre 75-90%.
Embora mais dispendioso, o gold standard do teste serolgico o immunoblot,
que propicia uma representao visual de mltiplos antignios num dado doente. Este
detalhe permite um grau de certeza de infeco entre 95-97%. Os testes actualmente
comercializados so: Helicoblot, RIDA Blot Helicobacter e CHIRON RIBA H.pSIA.
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
119
Um dos avanos actuais dos testes serolgicos, consiste na possibilidade de identifi-
car estirpes de Hp mais virulentas. Foram comercializados testes que permitem deter-
minar a presena de anticorpos anti-CagA, usualmente IgG. Por outro lado, foram j
ensaiados testes serolgicos especficos para os antignios VacA e iceA.
A principal limitao do teste serolgico reside no facto de no confirmar a cura da
infeco, aps teraputica adequada. Os anticorpos anti-Hp persistem durante muito
tempo em ttulos que determinam positividade do teste, apesar de ter sido erradica-
da a infeco Hp.
(e) Teste respiratrio da ureia
o melhor mtodo no invasivo para detectar a infeco Hp. O princpio bsico des-
tes testes baseia-se na capacidade de o Hp produzir grandes quantidades de urease.
Se existe colonizao bacteriana no estmago, a ingesto de uma soluo contendo
ureia rapidamente seguida da produo de NH3 e CO2. Este ltimo, aparece pron-
tamente no ar expirado. Se a ureia ingerida for marcada com um istopo detectvel,
o CO2 exalado aparece igualmente marcado, sendo ento possvel a sua deteco e
quantificao por mtodos apropriados. A ureia marcada com carbono-13, utiliza um
istopo estvel que no radioactivo, pelo que no h limitaes na sua utilizao,
ao contrrio do que sucede com a ureia marcada pelo carbono-14, que um radiois-
topo. O teste respiratrio da ureia marcada com carbono-13, um teste robusto, muito
fivel, propiciando resultados rigorosos quanto existncia ou no de infeco Hp,
antes e aps teraputica de erradicao. Por isso tem vindo a ser crescentemente uti-
lizado como mtodo ideal, designadamente em crianas, na mulher grvida e no
doente que recusa o exame endoscpico. Actualmente ainda um teste caro, mas a
sua crescente implantao vai certamente concorrer para o seu menor custo.
Podem ocorrer falsos negativos, se os doentes testados andam sob medicao com
antibiticos, bismuto ou IBP, frmacos que reduzem a densidade bacteriana no est-
mago. No caso dos IBP, necessrio aguardar pelo menos uma semana entre a inter-
rupo do frmaco e a realizao do teste. Essa precauo no necessria relativa-
mente aos inibidores H2.
Para confirmao da cura da infeco, uma das grandes indicaes deste teste, deve
aguardar-se um perodo de pelo menos quatro semanas aps o final da teraputica
de erradicao da infeco Hp, para a efectivao do teste respiratrio da ureia.
(f) PCR (Polymerase Chain Reaction)
O PCR uma tcnica muito sofisticada e laboriosa, que consiste na amplificao do
DNA, de que resulta a rpida produo de mltiplas cpias de uma determinada
sequncia do DNA (um simples gene, por exemplo). Comparado com a histologia ou
cultura, o PCR oferece uma sensibilidade de 93%, e uma especificidade de 100%,
podendo detectar densidades muito baixas de colonizao (10 a 100 clulas Hp).
Embora o PCR tenha muitas vantagens, no uma tcnica ptima para a rotina clni-
Doenas do Aparelho Digestivo
120
ca. realizada somente em centros especializados, dada a sofisticao tcnica que
exige, alm de pessoal especialmente treinado.
O PCR, alm de ser realizado em bipsias gstricas, tambm pode identificar o Hp no
suco gstrico, na saliva, na placa dentria, na blis, nas fezes, na gua de consumo,
etc.
(g) Pesquisa do Hp nas fezes
J se encontra comercializado um imunoteste enzimtico para deteco da presena
de antignios do Hp nas fezes. Trata-se do HpSA (USA), aprovado pela FDA para o
diagnstico da infeco Hp em adultos, e para a monitorizao da resposta terapu-
tica de erradicao da infeco.
Ainda no h muitos estudos da correlao deste novo teste, com os mais tradicio-
nais. Dados preliminares apontam para uma sensibilidade e especificidade similares
s dos considerados gold standard. No entanto, so necessrios mais estudos para
uma avaliao fidedigna deste teste que, segundo alguns autores, teria interesse em
estudos epidemiolgicos, na investigao peditrica, na avaliao pr-endoscpica do
estado Hp e na monitorizao ps-teraputica.
(h) Que teste seleccionar ?
A estratgia diagnstica depende de mltiplos factores, sendo difcil apresentar reco-
mendaes exactas. Em termos gerais, no entanto, e pressupondo que esto dispo-
nveis todos os testes referenciados, recomendamos a seguintes estratgia:
(1) Em estudos de feio epidemiolgica, aconselha-se a realizao de um teste
serolgico ou, eventualmente, do rastreio do antignio Hp nas fezes.
(2) Se o doente necessita de realizar exame endoscpico, e se se entender neces-
srio detectar a infeco Hp, devem colher-se bipsias mltiplas, designada-
mente para pesquisa do Hp por histologia e pelo teste rpido da urease.
(3) Aps teraputica de erradicao do Hp, o teste ideal para confirmar a cura da
infeco a realizao de um teste respiratrio da ureia marcada com carbo-
no-13.
(4) A cultura est indicada quando h necessidade de conhecer o grau de suscep-
tibilidade aos antibiticos, se h falncia das teraputicas de erradicao.
(5) Na criana e no adulto que recusa o exame endoscpico, o teste ideal o teste
respiratrio da ureia.
6. TRATAMENTO
A. INTRODUO
Tratando-se de uma doena infecciosa crnica, a infeco por H. pylori exige o recur-
so antibioterpia. No entanto, o meio fsico gstrico muito hostil ao uso eficaz de
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
121
agentes antimicrobianos, porque o estmago apresenta um pH baixo mas inconstan-
te, tem uma secreo activa, tapetado por uma cobertura mucosa espessa, promo-
ve um esvaziamento constante do seu contedo e caracterizado por uma esfoliao
regular das clulas da superfcie. Estes factos, e a circunstncia de o Hp se localizar
em diferentes microambientes no interior da camada mucosa, aderente ao epitlio
de superfcie ou mesmo dentro de clulas epiteliais -, torna mais problemtica a
actuao dos antibiticos.
A eficcia da antibioterpia aumenta, quando se associa a frmacos inibidores da
secreo cida gstrica. De facto, estes diminuem o volume da secreo, pelo que
aumenta a concentrao do agente antimicrobiano; aumentam o pH intragstrico,
melhorando assim a eficcia do antibitico; e h evidncia de que os IBP tm um efei-
to antimicrobiano directo.
O pH baixo do estmago uma barreira importante aco eficaz de muitos antibi-
ticos. A elevao do pH, designadamente com um IBP, uma ideia atractiva.
Provavelmente o ideal ser administrar estes frmacos duas vezes por dia, garantin-
do desse modo uma inibio cida mais prolongada. No entanto, ainda se desconhe-
ce qual o grau ptimo de controlo do pH.
Os antibiticos variam na necessidade de um controlo do pH. A ampicilina dez vezes
mais activa com um pH neutro do que com um pH mais cido. Pelo contrrio, a efi-
ccia da tetraciclina j no to dependente das flutuaes do pH. A actividade do
bismuto e do metronidazol no afectada quando se altera o pH de 5.5 para 7.5.
H factores que podem ter uma influncia importante na eficcia da teraputica anti-
microbiana:
- Formulao galnica (cpsula, comprimido, lquido, grnulo)
- Administrao em relao com as refeies
- Frequncia da administrao do frmaco
- Dose dos agentes antimicrobianos
- Sal de bismuto (por ex. citrato, nitrato, salicilato)
- Durao do tratamento
- Coterpia para elevar o pH
- Administrao de mucolticos
importante ter presente, por outro lado, quais so as possveis razes que determi-
nam a falncia da antibioterpia:
- Resistncia bacteriana
- Incapacidade do antibitico penetrar at ao nicho onde habita o Hp
- Presena de protenas de ligao
- Ambiente anaerbico
- Presena de enzimas inactivadores
Doenas do Aparelho Digestivo
122
- Interaco com frmacos
- Compliance do doente
- Durao da teraputica
- Distribuio e concentrao do frmaco
O Hp rapidamente adquire resistncia a muitos antibiticos, pelo que h necessidade
de combinaes teraputicas. A compliance do doente outro factor a ter em conta
no fracasso teraputico. Por uma questo de simplicidade, todos os antibiticos
devem ser administrados conjuntamente, e s refeies.
Considera-se que a teraputica de erradicao foi eficaz, isto , houve cura da infec-
o, quando no h evidncia de Hp, quatro ou mais semanas aps ter terminado o
perodo de tratamento. O risco de uma reinfeco muito baixo (cerca de 0.5% por
ano).
B. PROTOCOLOS TERAPUTICOS
O sucesso teraputico depende da administrao concomitante de dois ou mais agen-
tes antimicrobianos, frequentemente associados a um frmaco antisecretor. Nenhum
dos regimes actualmente propostos atinge 100% de xito, mas conseguem-se taxas
de cura entre 80-95% na rotina clnica. A presena de estirpes resistentes e a adeso
do doente polimedicao, so as duas mais importantes variveis de predio da
resposta.
A teraputica tripla que associa um inibidor da bomba de protes (IBP) a dois anti-
biticos, est universalmente consagrada. Segundo Bazzoli et al (Bolonha), um regi-
me muito eficaz consiste na administrao de Omeprazole + Claritromicina +
Metronidazole, durante sete dias. Para Lamouliatte et al (Bordus), a teraputica tri-
pla ideal consistiria na administrao de Omeprazole + Claritromicina + Amoxicilina,
durante 10 dias. O estudo de meta-anlise de Laheij et al evidencia de forma clara
que este modelo de teraputica tripla, utilizando um IBP, associado a dois de trs
antibiticos (Claritromicina, Amoxicilina e Metronidazole), bastante eficaz, com per-
centagens de cura por protocolo entre 82.4% e 87.1%.
Considerando que a eficcia global no atinge os 100%, apontam-se as seguintes
hipteses de insucesso no tratamento:
(1) Factores relacionados com o esquema de tratamento
Dose de Claritromicina. No estudo de meta-anlise acima referido, aumentando a dose
de Claritromicina, apurava-se uma maior eficcia. Em contraste, as doses de
Amoxicilina e de Metronidazole no influenciam tanto os resultados.
Durao do tratamento. Continua a existir controvrsia neste ponto. Na Europa, aps
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
123
os estudos MACH, advogam as comisses de consenso dos vrios pases um trata-
mento de sete dias. Nos Estados Unidos da Amrica, a FDA aprovou uma durao de
14 dias. H autores que sugerem 10 dias de teraputica.
Tipo e dose do IBP. Segundo a anlise de Unge, parece existir maior eficcia do
Omeprazole, em comparao com Lansoprazole ou Pantoprazole. Aumentando a dose
do IBP parece no haver melhoria na percentagem de cura. Uma dose elevada de IBP
mais importante quando se utiliza a associao Amoxicilina + Claritromicina.
Aguardam-se os resultados do Esomeprazole no mbito da teraputica de erradica-
o.
(2) Factores relacionados com a estirpe Hp
Resistncia bacteriana. O impacto da resistncia no resultado final diferente para o
Metronidazole e Claritromicina. No tocante ao Metronidazole, apesar da presena de
estirpes resistentes, ainda se conseguem atingir taxas de sucesso de 75%. Nos pa-
ses desenvolvidos, a resistncia ao Metronidazole no excede os 50%. Pelo contrrio,
o impacto da resistncia Claritromicina muito mais importante, apontando-se taxas
de cura entre 0-50%. Felizmente que as percentagens de resistncia a este macrlido
ainda baixa, situando-se entre 0-15%. Quanto resistncia Amoxicilina, muito
rara.
Estirpe do Hp. Tem sido evidenciado que as estirpes de doentes com lcera pptica
so mais fceis de erradicar do que as estirpes de pacientes com dispepsia funcional.
A existncia do antignio CagA conferiria maior dificuldade na obteno da cura,
segundo Mgraud e outros autores.
(3) Factores relacionados com o doente
A compliance do doente interfere nos resultados, como j sublinhamos, e diferen-
te geogrficamente. Outros factores, como o consumo de tabaco e de lcool, a dieta,
o tipo de estirpe e o grau de resistncia aos antibiticos, variam de pas para pas,
tornando por vezes difcil a comparao dos resultados dos ensaios teraputicos.
Como vimos, a teraputica tripla baseia-se, geralmente, na administrao de um IBP.
No entanto, vrios estudos evidenciaram que a substituio do IBP pela Ranitidina
Bismuto Citrato, garante tambm taxas elevadas de cura. No estudo de meta-anlise
de Laheij et al, atrs referido, a combinao deste produto com Claritromicina +
Amoxicilina induziu taxas de cura por protocolo de 87.6%, e a combinao com
Claritromicina + Metronidazole propiciou taxas de cura por protocolo de 90.7%.
Tendo em conta os considerandos apresentados, propem-se as seguintes combina-
es de teraputica tripla na erradicao do Hp:
Regime 1
IBP, dose normal, duas vezes/dia
Claritromicina, 500 mgr, duas vezes/dia
Metronidazole, 500 mgr, duas vezes/dia
Doenas do Aparelho Digestivo
124
Regime 2
IBP, dose normal, duas vezes/dia
Claritromicina, 500 mgr, duas vezes/dia
Amoxicilina, 1 gr, duas vezes/dia
Regime 3
IBP, dose normal, duas vezes/dia
Amoxicilina, 1 gr, duas vezes/dia
Metronidazole, 1 gr, duas vezes/dia
Regime 4
Ranitidina Bismuto Citrato, 400 mgr, duas vezes/dia
Claritromicina, 500 mgr, duas vezes/dia
Metronidazole, 500 mgr, duas vezes/dia
Durao do tratamento = 7 dias
Efectuado o tratamento, importante, em nossa opinio, confirmar a cura da infeco.
Como atrs referimos, o teste ideal a realizar o teste respiratrio da ureia, efectuado
nunca antes de 4 semanas aps o final do tratamento. Se este teste no confirma a cura,
h que ponderar essencialmente duas razes: compliance do doente ou resistncia bac-
teriana. Se houve adeso plena do doente, provvel que exista resistncia bacteriana
Claritromicina ou ao Metronidazole. Deve ento repetir-se o regime teraputico, duran-
te pelo menos 10 dias, substituindo o antibitico em causa por outro. aqui que pode
entrar em jogo, em caso de necessidade, a Tetraciclina, antibitico que tem evidenciado
eficcia nestas combinaes teraputicas. A dose de Tetraciclina varia, conforme os auto-
res, entre 500 mgr duas vezes por dia, a 500 mgr quatro vezes por dia.
Se a teraputica tripla actualmente a combinao teraputica universalmente reco-
mendada, em caso de insucesso, apesar das variaes atrs explanadas, h ainda o
recurso chamada teraputica qudrupla, que pode ter vrias formulaes. Limitamo-
nos a apresentar duas delas, as mais comummente referidas:
Regime 1
Ranitidina Bismuto Citrato, 400 mgr, duas vezes/dia
Amoxicilina, 1 gr, duas vezes/dia
Tetraciclina, 500 mgr, duas vezes/dia
Claritromicina, 500 mgr, duas vezes/dia
Regime 2
IBP, dose normal, ao pequeno-almoo
Metronidazole, 500 mgr, duas vezes/dia
Tetraciclina, 500 mgr, duas vezes/dia
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
125
Ranitidina Bismuto Citrato, 400 mgr, duas vezes/dia
C. INDICAES TERAPUTICAS
Constitui actualmente matria controversa. H indicaes precisas e definitivas, ao
lado de outras muito dbias, no plano cientfico.
Seguindo a opinio de Fennerty e de muitos outros autores, a teraputica de erradi-
cao da infeco Hp obrigatria nas seguintes situaes:
- lcera pptica activa ou histria de lcera (complicada ou no complicada)
- Linfoma gstrico MALT (MALToma)
- Carcinoma gstrico precoce (erradicao do Hp aps tratamento endoscpico ou
cirrgico do carcinoma)
No h indicao teraputica nas seguintes situaes:
- Indivduos assintomticos
- Preveno do cancro gstrico
muito controversa esta teraputica nas seguintes situaes:
- Dispepsia funcional
- Doentes medicados com AINEs e que tm infeco Hp
- Doentes com DRGE + infeco Hp
- Doentes com atrofia, metaplasia intestinal ou displasia gstrica
- Doentes com histria familiar de cancro do estmago
D. PROSPECTIVA
Novos compostos esto presentemente a ser avaliados para o tratamento da infeco
Hp, incluindo macrlidos diferentes da Claritromicina (por ex. Azitromicina e
Roxitromicina).
O Nitazoxamide um composto que partilha muitas propriedades dos nitroimidazis.
bem tolerado e no induz resistncias. Os resultados preliminares com este com-
posto so muito promissores.
Os Ketolidos so derivados do grupo dos macrlidos. Alguns deles so activos con-
tra estirpes de Hp resistentes aos macrlidos. Aguardam-se ensaios teraputicos com
estes frmacos.
Drogas baseadas na Genmica. Conhecida a sequncia genmica de algumas estir-
pes de Hp, abriu-se uma via importante de pesquisa de agentes activos contra certas
funes vitais desta bactria. Estamos ainda no incio de uma nova era teraputica
neste domnio.
Doenas do Aparelho Digestivo
126
Vacina. O desenvolvimento de uma vacina que confira imunidade duradoura contra o
Hp e cure a infeco estabelecida, uma das grandes linhas de investigao actual.
J foram testados alguns prottipos em animais, e iniciou-se um ensaio experimental
no homem. Aguardam-se os resultados.
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
127
Doenas do Aparelho Digestivo
128
REFERNCIAS
Hunt RH, Tytgat GNJ (Eds). Helicobacter pylori. Basic Mechanisms to Clinical Cure. Kluwer Academic Publishers, 1994.
Moran AP, OMorain CA (Eds). Pathogenesis and host response in Helicobacter pylori infections. Normed Verlag 1997.
Lee A, Mgraud D (Eds). Helicobacter pylori: techniques for clinical diagnosis & basic research. W.B. Saunders Co. 1996.
Graham DY, Genta RM, Dixon MF (Eds). Gastritis. Lippincott Williams & Wilkins 1999.
Confrence de consensus Helicobacter Pylori. Rvision 1999. Hepato-Gastro 1999;6 (suppl.):5-18.
Soares J, Carneiro F, Cotter J et al. Prevalncia da infeco pelo Helicobacter pylori e caractersticas da mucosa gstrica em doentes dispp-
ticos sujeitos a endoscopia no Norte de Portugal. Rev. Gastrenterol 1993;X:119-132.
Tom Ribeiro, Cotter J (Eds). Helicobacter pylori. A infeco e suas consequncias. Medisa, Porto, 1998.
Graham DY. Helicobacter pylori infection in the pathogenesis of duodenal ulcer and gastric cancer: a model. Gastroenterology 1997;113:1983-
1991.
Pina Cabral JE, Saraiva S, Lrias C et al. Seroprevalncia do Helicobacter pylori e das estirpes virulentas em doentes com carcinoma gstri-
co. GE J Port. Gastrenterol 1998;5:158-162.
Helicobacter Pylori 1997. HepatoGastro 1998:5, Fev. (N spcial).
DA Israel & RM Peek. Review article: pathogenesis of Helicobacter pylori-induced gastric inflammation.
Alim Pharm & Therapeut 2001;15(9):1271-1290.
M Guslandi. Review article: alternative antibacterial agents for Helicobacter pylori eradication.
Alim Pharm & Therapeut 2001;15(10):1543-1548.
Howden CW, Hunt (Eds). Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol 1998;93(12):2330-233.
Romozinho JM. Infeco pelo Helicobacter pylori e tumores malignos do estmago. Arq Hepato-Gastrenterol Port. 1999;8(1):1-8.
Parente F, Bianchi Porro G. The (13)C-urea breath test for non-invasive diagnosis of Helicobacter pyloriinfection: which procedure and which
measuring equipment? Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Jul;13(7):803-6.
Guerreiro AS. Helicobacter pyori. Epidemiologia. Arq. Hepato-Gastrenterol Port. 1995;4(3):155-165.
Malfertheiner P, Freston H. Helicobacter pylori-induced gastritis, ulceration, and neoplasia. Epidemiology, pathophysiology and therapeutics.
In:Friedman G, Jacobson ED, McCallum RW (Eds). Gastrointestinal Pharmacology & Therapeutics. Lippincott-Raven 1997:21-30.
Misiewicz JJ (Ed). The role of Helicobacter pylori infection in the pathogenesis of peptic ulcer disease. Aliment Pharmac & Therapy 1996;10
(Suppl 1).
Blaser MJ (Ed). Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol & Therapy 1995;9 (Suppl 2).
Hunt RH, Sumanac K, Huang JQ. Review article: should we kill or should we save Helicobacter pylori? Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15
Suppl 1:51-9.
Genta RM, Rugge M. Review article: pre-neoplastic states of the gastric mucosa--a practical approach for the perplexed clinician.
Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:43-50.
Vaira D, Holton J, Ricci C, et al. Review article: the transmission of Helicobacter pylori from stomach to stomach.
Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:33-42.
Stanghellini V, Barbara G, de Giorgio R, et al. Review article: Helicobacter pylori, mucosal inflammation and symptom perception--new insights
into an old hypothesis. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:28-32.
Lazzaroni M, Porro GB. Review article: Helicobacter pylori and NSAID gastropathy. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:22-7.
Dent J. Review Article: is Helicobacter pylori relevant in the management of reflux disease? Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:16-21.
Vakil N. Review article: the cost of diagnosing Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:10-5.
Feldman RA. Review article: would eradication of Helicobacter pylori infection reduce the risk of gastric cancer?
Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:2-5.
Blanchard TG, Czinn SJ. Helicobacter pylori acquisition and transmission: where does it all begin? Gastroenterology. 2001 Aug;121(2):483-5.
Parente F, Bianchi Porro G. The (13)C-urea breath test for non-invasive diagnosis of Helicobacter pylori infection: which procedure and which
measuring equipment? Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Jul;13(7):803-6.
Kokoska ER, Kauffman GL Jr. Helicobacter pylori and the gastroduodenal mucosa. Surgery. 2001 Jul;130(1):13-6.
Engstrand L. Helicobacter in water and waterborne routes of transmission. J Appl Microbiol. 2001;90 Suppl:80S-4S.
Labenz J. Current role of acid suppressants in Helicobacter pylori eradication therapy. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Jun;15(3):413-31.
Howden CW, Leontiadis GI. Current indications for acid suppressants in Helicobacter pylori -negative ulcer disease.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Jun;15(3):401-12.
Jenks PJ. Helicobacter pylori: towards new therapeutic targets. J Med Microbiol. 2001 Jun;50(6):485-8.
Cremonini F, Gasbarrini A, Armuzzi A, Gasbarrini G. Helicobacter pylori-related diseases. Eur J Clin Invest. 2001 May;31(5):431-7.
Kearney DJ. Retreatment of Helicobacter pylori infection after initial treatment failure. Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1335-9.
Chaun H. Update on the role of H pylori infection in gastrointestinal disorders. Can J Gastroenterol. 2001 Apr;15(4):251-5.
Braden B, Caspary WF. Detection of Helicobacter pylori infection: when to perform which test? Ann Med. 2001 Mar;33(2):91-7.
Dundon WG, de Bernard M, Montecucco C. Virulence factors of Helicobacter pylori. Int J Med Microbiol. 2001 Mar;290(8):647-58.
Lee CK. Vaccination against Helicobacter pylori in non-human primate models and humans. Scand J Immunol. 2001 May;53(5):437-42.
Sutton P. Progress in vaccination against Helicobacter pylori. Vaccine. 2001 Mar 21;19(17-19):2286-90.
de Boer WA, Tytgat GN. Search and treat strategy to eliminate Helicobacter pylori associated ulcer disease. Gut. 2001 Apr;48(4):567-70.
de Boer WA. Topics in Helicobacter pylori infection: focus on a 'search-and-treat' strategy for ulcer disease. Scand J Gastroenterol Suppl.
2000;(232):4-9.
Brown LM. Helicobacter pylori: epidemiology and routes of transmission. Epidemiol Rev. 2000;22(2):283-97.
Falk GW. GERD and H. pylori: is there a link? Semin Gastrointest Dis. 2001 Jan;12(1):16-25.
Leung WK, Graham DY. Ulcer and gastritis. Endoscopy. 2001 Jan;33(1):8-15.
Xia HH, Talley NJ. Apoptosis in gastric epithelium induced by helicobacter pylori infection: implications in gastric carcinogenesis.
Am J Gastroenterol. 2001 Jan;96(1):16-26.
Graham DY. Community acquired acute Helicobacter pylori gastritis. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Dec;15(12):1353-5.
Bravos ED, Gilman RH. Accurate diagnosis of Helicobacter pylori. Other tests. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):925-9.
Vaira D, Menegatti M, Ricci C, et al. Accurate diagnosis of Helicobacter pylori. Stool tests. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):917-23.
Ho GY, Windsor HM. Accurate diagnosis of Helicobacter pylori. Polymerase chain reaction tests.
Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):903-15.
Chey WD. Accurate diagnosis of Helicobacter pylori. 14C-urea breath test. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):895-902.
Graham DY, Klein PD. Accurate diagnosis of Helicobacter pylori. 13C-urea breath test. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):885-93.
Perez-Perez GI. Accurate diagnosis of Helicobacter pylori. Culture, including transport. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):879-84.
Midolo P, Marshall BJ. Accurate diagnosis of Helicobacter pylori. Urease tests. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):871-8.
el-Zimaity HM. Accurate diagnosis of Helicobacter pylori with biopsy. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):863-9.
Ho B, Marshall BJ. Accurate diagnosis of Helicobacter pylori. Serologic testing. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):853-62.
Satoh K. Does eradication of Helicobacter pylori reverse atrophic gastritis or intestinal metaplasia? Data from Japan.
Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):829-35.
Uemura N, Okamoto S. Effect of Helicobacter pylori eradication on subsequent development of cancer after endoscopic resection of early
gastric cancer in Japan. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):819-27.
Mc Namara DA, Buckley M, O'Morain CA. Nonulcer dyspepsia. Current concepts and management.
Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):807-18.
Yeomans ND, Garas G, Hawkey CJ. The nonsteroidal anti-inflammatory drugs controversy. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):791-805.
Cohen H. Peptic ulcer and Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):775-89.
Megraud F, Marshall BJ. How to treat Helicobacter pylori. First-line, second-line, and future therapies.
Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):759-73.
Nagura H, Ohtani H, Sasano H, Matsumoto T. The immuno-inflammatory mechanism for tissue injury in inflammatory bowel disease and
Helicobacter pylori-infected chronic active gastritis. Roles of the mucosal immune system. Digestion. 2001;63 Suppl 1:12-21.
Vaira D, Vakil N. Blood, urine, stool, breath, money, and Helicobacter pylori. Gut. 2001 Mar;48(3):287-9.
Graham DY. Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs: interaction with proton pump inhibitor therapy for prevention of
nonsteroidal anti-inflammatory drug ulcers and ulcer complications--future research needs. Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):58S-61S.
Chan FK, Hawkey CJ, Lanas AI. Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs: a three-way debate.
Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):55S-57S.
Lazzaroni M, Bianchi Porro G. Nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropathy and Helicobacter pylori: the search for an improbable con-
sensus. Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):50S-54S.
Sung JJ. Management of nonsteroidal anti-inflammatory drug-related peptic ulcer bleeding. Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):29S-32S.
Hawkey CJ. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the gastrointestinal tract: consensus and controversy. Introduction.
Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):1S-3S.
Heatley RV. Peptic ulcer after H pylori. Practitioner. 2000 Oct;244(1615):899-901, 903.
Tytgat G. Helicobacter pylori: past, present and future. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Oct;15 Suppl:G30-3.
Sachs G, Shin JM, Munson K, et al. Review article: the control of gastric acid and Helicobacter pylori eradication.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Nov;14(11):1383-401.
Tytgat GN. Review article: Helicobacter pylori: where are we and where are we going? Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14 Suppl 3:55-8.
Huang JQ, Hunt RH. Review article: Helicobacter pylori and gastric cancer--the clinicians'point of view.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14 Suppl 3:48-54.
Barr M, Buckley M, O'Morain C. Review article: non-steroidal anti-inflammatory drugs and Helicobacter pylori.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14 Suppl 3:43-7.
Vigneri S, Termini R, Savarino V, Pace F. Review article: is Helicobacter pylori status relevant in the management of GORD?
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14 Suppl 3:31-42.
Vaira D, Holton J, Menegatti M, et al. Review article:invasive and non-invasive tests for Helicobacter pylori infection.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14 Suppl 3:13-22.
Megraud F, Broutet N. Review article: have we found the source of Helicobacter pylori? Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14 Suppl 3:7-12.
Suerbaum S. Genetic variability within Helicobacter pylori. Int J Med Microbiol. 2000 May;290(2):175-81.
Warren JR. Gastric pathology associated with Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):705-51.
McColl KE, el-Omar E, Gillen D. Helicobacter pylori gastritis and gastric physiology. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):687-703.
Go MF, Crowe SE. Virulence and pathogenicity of Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):649-70.
Windsor HM, O'Rourke J. Bacteriology and taxonomy of Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):633-48.
Haruma K. Trend toward a reduced prevalence of Helicobacter pylori infection, chronic gastritis, and gastric cancer in Japan.
Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):623-31.
Kimura K. Gastritis and gastric cancer. Asia. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):609-21.
Morgner A, Bayerdorffer E, Neubauer A, Stolte M. Malignant tumors of the stomach. Gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma
and Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):593-607.
Sipponen P, Marshall BJ. Gastritis and gastric cancer. Western countries. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):579-92.
Everhart JE. Recent developments in the epidemiology of Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):559-78.
Shiotani A, Nurgalieva ZZ, Yamaoka Y, Graham DY. Helicobacter pylori. Med Clin North Am. 2000 Sep;84(5):1125-36.
Moayyedi P, Soo S, Deeks J, et al. Systematic review and economic evaluation of Helicobacter pylori eradication treatment for non-ulcer dys-
pepsia. Dyspepsia Review Group. BMJ. 2000 Sep 16;321(7262):659-64.
Bayerdorffer E, Morgner A. Gastric marginal zone B-cell lymphoma of the mucosa-associated lymphoid tissue type: management of the disea-
se. Dig Liver Dis. 2000 Apr;32(3):192-4.
Go MF, Smoot DT. Helicobacter pylori, gastric MALT lymphoma, and adenocarcinoma of the stomach.
Semin Gastrointest Dis. 2000 Jul;11(3):134-41.
Van Oijen AH, Verbeek AL, Jansen JB, De Boer WA. Review article: treatment of Helicobacter pylori infection with ranitidine bismuth citrate-
or proton pump inhibitor-based triple therapies. Aliment Pharmacol Ther. 2000 Aug;14(8):991-9.
Stedman CA, Barclay ML. Review article: comparison of the pharmacokinetics, acid suppression and efficacy of proton pump inhibitors.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Aug;14(8):963-78.
Ebert MP, Yu J, Sung JJ, Malfertheiner P. Molecular alterations in gastric cancer: the role of Helicobacter pylori.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Jul;12(7):795-8.
Genta RM. A year in the life of the gastric mucosa. Gastroenterology. 2000 Jul;119(1):252-4.
McNamara D, O'Morain C. Consensus guidelines: agreement and debate surrounding the optimal management of Helicobacter pylori infec-
tion. Can J Gastroenterol. 2000 Jun;14(6):511-7.
Graham DY. Therapy of Helicobacter pylori: current status and issues. Gastroenterology. 2000 Feb;118(2 Suppl 1):S2-8.
Deltenre M, de Koster E. How come I've got it? (A review of Helicobacter pylori transmission).
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;12(5):479-82.
Graham DY, Yamaoka Y. Disease-specific Helicobacter pylori virulence factors: the unfulfilled promise.
Helicobacter. 2000;5 Suppl 1:S3-9; discussion S27-31.
Metz DC, Kroser JA. Helicobacter pylori and gastroesophageal reflux disease. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Dec;28(4):971-85.
Williams MP, Pounder RE. Helicobacter pylori: from the benign to the malignant. Am J Gastroenterol. 1999 Nov;94(11 Suppl):S11-6.
ESTMAGO E DUODENO - Infeco pelo Helicobacter Pylori
129
Pellicano R, Broutet N, Ponzetto A, Megraud F. Helicobacter pylori: from the stomach to the heart.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Nov;11(11):1335-7.
Tsang KW, Lam SK. Helicobacter pylori and extra-digestive diseases. J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;14(9):844-50.
Dent J. Helicobacter pylori and reflux disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Aug;11 Suppl 2:S51-7; discussion S73.
Nguyen TN, Barkun AN, Fallone CA. Host determinants of Helicobacter pylori infection and its clinical outcome.
Helicobacter. 1999 Sep;4(3):185-97.
Houben MH, Van Der Beek D, Hensen EF, et al. A systematic review of Helicobacter pylori eradication therapy--the impact of antimicrobial
resistance on eradication rates. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Aug;13(8):1047-55.
Tytgat GN. Helicobacter pylori-reflections for the next millennium. Gut. 1999 Jul;45 Suppl 1:I45-7.
Huang JQ, Hunt RH. Treatment after failure: the problem of "non-responders". Gut. 1999 Jul;45 Suppl 1:I40-4.
Rowland M, Imrie C, Bourke B, Drumm B. How should Helicobacter pylori infected children be managed? Gut. 1999 Jul;45 Suppl 1:I36-9.
Isaacson PG. Gastric MALT lymphoma: from concept to cure. Ann Oncol. 1999 Jun;10(6):637-45.
Danesh J. Helicobacter pylori infection and gastric cancer: systematic review of the epidemiological studies.
Aliment Pharmacol Ther. 1999 Jul;13(7):851-6.
Cover TL, Blaser MJ. Helicobacter pylori factors associated with disease. Gastroenterology. 1999 Jul;117(1):257-61.
Scheiman JM, Cutler AF. Helicobacter pylori and gastric cancer. Am J Med. 1999 Feb;106(2):222-6.
Ernst P. Review article: the role of inflammation in the pathogenesis of gastric cancer. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Mar;13 Suppl 1:13-8.
Doenas do Aparelho Digestivo
130
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
131
SECO II - ESTMAGO E DUODENO
CAPTULO VI
GASTRITE
1. Gastrite Infecciosa
A. Gastrite por Helicobacter Pylori
B. Outras Gastrites Infecciosas
2. Gastrite Auto-imune
3. Gastrite Linfoctica
4. Gastrite Granulomatosa
5. Gastrite/Gastropatia Reactiva
6. Gastropatia Vasculares
A. Ectasias Vasculares Antrais
B. Gastropatia Hipertensiva Portal
131
Doenas do Aparelho Digestivo
1. GASTRITE INFECCIOSA
A. GASTRITE POR HELICOBACTER PYLORI
A causa mais frequente de gastrite a infeco pelo Helicobacter pylori (Hp). A agres-
so por esta bactria induz inicialmente um quadro de gastrite aguda que pode rever-
ter, sobretudo na criana, ou evoluir para um quadro de gastrite crnica activa, sendo
este o desenvolvimento mais comum.
I - GASTRITE AGUDA
A colonizao do estmago pelo Hp no ocasiona sintomas na maioria dos doentes
infectados. No entanto, nesta fase aguda podem surgir queixas, que se iniciam 1-7
dias aps a infeco e usualmente desaparecem 10-12 dias ps-infeco. Os sintomas
mais usuais so: dor epigstrica ligeira ou moderada, vmitos, flatulncia, anorexia e
mal estar. O exame endoscpico revela habitualmente eritema discreto ou mucosa
congestionada, com pregas trgidas e ocasionalmente eroses no antro. Raramente
so identificadas lceras ou leses fungides, lembrando o carcinoma ou o linfoma.
Outra caracterstica biolgica desta infeco aguda pelo Hp, a induo de um qua-
dro de hipocloridria ou mesmo de acloridria, que pode persistir durante dias ou
meses. No se encontra ainda cabalmente esclarecido este fenmeno. Poder resultar
de efeitos directos ou indirectos de toxinas bacterianas nas clulas parietais, desig-
nadamente da protena AIF2, que tem uma aco inibidora de acidez, ou de cidos
gordos produzidos pelo Hp. Provavelmente, citocinas produzidas localmente pela
mucosa gstrica, nomeadamente o TNF- e a IL-1, interviriam igualmente na frenao
da cloridria.
A infeco adquirida por via oral, e aps ingesto do microorganismo, este penetra
atravs da camada viscosa de muco e multiplica-se nas proximidades da membrana
apical das clulas epiteliais da superfcie da mucosa gstrica. Uma fraco dos micro-
organismos aderem ao epitlio, ou penetram atravs dos interstcios inter-epiteliais.
O epitlio responde agresso com depleo da mucina, exfoliao celular e altera-
es regenerativas sinciciais, e inicia-se um processo de infiltrao da lamina propria
e do epitlio superficial por polimorfonucleares, e tambm por moncitos/macrfagos.
Os factores responsveis por esta reaco epitelial e inflamatria, so de origem bac-
teriana e do hospedeiro, como j foi descrito na abordagem do tema Infeco pelo
Helicobacter pylori.
A fase aguda da gastrite por Hp de curta durao. Numa pequena fraco de doen-
tes infectados, a reaco do hospedeiro consegue eliminar os agentes bacterianos,
com resoluo completa do processo. Na maioria dos casos, no entanto, a resposta
imunitria natural falha na eliminao da infeco, e verifica-se nas 3 ou 3 semanas
seguintes, a acumulao gradual de clulas inflamatrias crnicas, que iniciam uma
resposta imunitria especfica. Em consequncia desta evoluo, a gastrite aguada
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
133
neutroflica transforma-se numa gastrite crnica activa.
semelhana do que acontece com outras infeces bacterianas, as primeiras imuno-
globulinas a aparecer so as imunoglobulinas da classe M, detectadas no soro cerca
de 14 dias aps a infeco, e que persistem durante vrias semanas. A nvel da muco-
sa gstrica, detectam-se nesta fase inicial da infeco, por immunoblot, as imunoglo-
bulinas IgA e IgM. As imunoglobulinas IgG detectam-se no soro bastante mais tarde,
aps um declnio substancial nas IgM. Nveis sricos elevados dos anticorpos IgG per-
sistem at que a infeco seja erradicada ou espontaneamente eliminada.
II - GASTRITE CRNICA ACTIVA
a. Histologia e Patognese
As principais caractersticas histolgicas da gastrite crnica incluem a degenerescn-
cia do epitlio de superfcie, a hiperplasia das criptas, a hipermia e edema da lami-
na propria, a infiltrao por neutrfilos e clulas inflamatrias crnicas, a atrofia e a
metaplasia intestinal.
(1) Degenerncia epitelial superficial
Caracteriza-se por:
- Aumento da exfoliao celular
- Diminuio do volume citoplasmtico
- Depleo da mucina com ou sem vacuolizao
- Perda focal de clulas (microeroses), em casos severos
- Actividade regenerativa do epitlio, com formao de gomos de clulas ou
aumento da actividade mittica
Endoscopicamente, as denominadas eroses completas so Hp positivas em 99% dos
doentes, aceitando-se actualmente que so uma sequela da gastrite antral pelo Hp.
Os fenmenos de degenerescncia epitelial resultam, muito provavelmente, do efeito
directo txico de produtos bacterianos nas clulas epiteliais: citotoxinas, urease e
amnia, acetaldeido, fosfolipases e outros mediadores.
(2) Hiperplasia das criptas
uma resposta compensatria exfoliao celular no epitlio de superfcie. Consiste
no alongamento e tortuosidade das criptas, com ncleos hipercromticos, aumento da
actividade mittica ao longo da cripta, imaturidade celular no topo superior da crip-
ta.
A hiperplasia das criptas na infeco Hp, ainda que no to pronunciada como a
observada na gastrite qumica (bilis, AINEs), uma evidncia morfolgica do aumen-
to do turnover celular epitelial.
(3) Hipermia e edema da lmina prpria
Doenas do Aparelho Digestivo
134
O edema e a congesto podem ser sinais histolgicos salientes na gastrite por Hp,
sobretudo nos casos mais activos. hoje aceite que o Hp promove a desgranulao
dos mastcitos e exerce um efeito directo na permeabilidade capilar s protenas plas-
mticas.
(4) Infiltrao por neutrfilos
um achado proeminente na gastrite aguda, sendo tambm comum nos quadros de
gastrite crnica activa. Os polimorfonucleares concentram-se em torno do fundo das
criptas, mas infiltram tambm a lamina propria e o epitlio superficial. Desaparecem
rapidamente com a teraputica de erradicao do Hp.
A infiltrao por leuccitos estimulada por factores bacterianos e por quimocinas
produzidas por vrias clulas, incluindo o epitlio gstrico. A activao dos neutrfi-
los e de macrfagos induz a libertao de ROMs (reactive oxygen metabolites), um
dos principais factores da agresso tissular. O stress oxidativo da agresso por ROMs
est intimamente ligado carcinognese, no tendo no entanto um papel exclusivo.
(5) Inflamao crnica
A infiltrao celular crnica por linfcitos, plasmcitos, eosinfilos e mastcitos, um
achado proeminente da gastrite crnica por Hp, se bem que no seja especfico.
Na gastrite associada ao Hp, a resposta inicial traduz-se no aparecimento de macr-
fagos e mastcitos, as chamadas clulas de alarme, como reaco entrada de pro-
dutos bacterianos e de antignios na lamina prpria. Os mastcitos libertam media-
dores vasoactivos, incluindo a histamina, PAP, TNF-, endotelinas e leucotrienos. O
leucotrieno C4 reduz acentuadamente o fluxo sanguneo na mucosa, tornando-a mais
vulnervel agresso cloridro-pptica.
A sequncia de eventos subsequentes encontra-se sumariada no tema Infeco pelo
Helicobacter pylori.
(6) Atrofia
A atrofia a perda de tecido glandular, que pode resultar de processos erosivos ou
ulcerativos da mucosa, ou de um processo inflamatrio prolongado.
A prevalncia e severidade da atrofia nos doentes com gastrite crnica aumenta com
a idade. Este evento no consequncia da idade per se. A durao da infeco Hp
e a sua severidade, so factores predominantes no desenvolvimento da atrofia.
Os fenmenos da atrofia seriam consequncia de uma aco directa bacteriana, ou da
resposta inflamatria infeco Hp. A destruio celular pode ser causada por citoto-
xinas e pela amnia, ou possivelmente tambm por proteases e ROMs libertados por
neutrfilos e outras clulas inflamatrias. Uma outra causa potencial, a destruio
glandular por mecanismos de autoimunidade.
A prevalncia de microorganismos detectveis no exame histolgico vai diminuindo
progressivamente com o aumento da atrofia glandular. Vrios possveis mecanismos
podem explicar este fenmeno: (1) O Hp coloniza somente o epitlio gstrico, porque
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
135
so as nicas clulas que dispom de receptores para as adesinas do Hp; as reas
de metaplasia intestinal usualmente presentes em estmagos com atrofia, no tm
esses receptores; (2) Glicoproteinas cidas, especialmente sulfomucinas, segregadas
pelo epitlio metaplsico, constituem um meio hostil colonizao pelo Hp; (3) A
hipocloridria que resulta da perda de clulas parietais, inimiga do Hp. Dos vrios
mecanismos propostos, a metaplasia intestinal considerada o principal factor deter-
minante da perda espontnea do Hp.
(7) Metaplasia intestinal
A metaplasia intestinal um achado frequente na gastrite crnica de qualquer etiolo-
gia, e aumenta de prevalncia com a idade e a durao da gastrite. A aquisio de
clulas caliciformes a marca da metaplasia intestinal, bem evidenciada pela tcnica
de colorao com azul de alciano+PAS, a pH 2.5.
Descrevem-se trs tipos de metaplasia intestinal: tipo I, ou metaplasia intestinal com-
pleta, lembrando a mucosa do intestino delgado; tipo II, ou metaplasia incomple-
ta, com clulas caliciformes contendo sialomucinas; e tipo III, tambm chamada
metaplasia incompleta tipo clico, caracterizada por criptas alongadas, tortuosas e
ramificadas, tapetadas por clulas caliciformes contendo sobretudo sulfomucinas.
Vrios estudos evidenciaram que a metaplasia intestinal mais frequentemente
encontrada em doentes Hp-positivos, apesar da tendncia para rarefaco ou perda
bacteriana na metaplasia extensa.
A prevalncia de metaplasia intestinal mais elevada no antro do que no corpo nos
indivduos infectados, sendo tambm mais frequente na lcera gstrica do que na
lcera duodenal ou dispepsia funcional. A metaplasia de tipo I a mais prevalente na
gastrite por Hp. Parece existir sinergia entre o Hp e o refluxo biliar no desenvolvimen-
to de metaplasia intestinal.
Embora a hiptese mais dominante defenda que a metaplasia intestinal o resulta-
do da exposio a substncias mutagnicas em meio hipoclordrico, possvel que
represente um fenmeno regenerativo aps agresso da mucosa. Dado que o Hp no
adere ao epitlio metaplsico, possvel conjecturar que a metaplasia um meca-
nismo de defesa contra a infeco. As sulfomucinas so mais resistentes degrada-
o por enzimas bacterianos, e poderiam manter a eficcia da barreia mucosa.
razovel admitir que o desenvolvimento de metaplasia de tipo I ou II, representa uma
alterao regenerativa e de adaptao infeco Hp, enquanto que o tipo III pode
representar uma adaptao proliferao bacteriana.
Contrariamente concepo tradicional segundo a qual a metaplasia intestinal tipo III
est ligada, histogeneticamente , displasia e ao carcinoma, possvel, segundo
Dixon e outros autores, que essa metaplasia represente uma adaptao epitelial que
ocorre paralelamente acumulao de factores carcinognicos. Poderia ento ser con-
siderada um indicador de risco aumentado de cancro, sem ser em si mesma um pre-
cursor pr-maligno directo.
No entanto, h evidncia indiscutvel que aponta para uma maior correlao entre a
Doenas do Aparelho Digestivo
136
metaplasia de tipo III e o carcinoma gstrico, do que nas outras formas de metapla-
sia. Na metaplasia de tipo III, o risco de cancro seria 2.7-5.8 vezes maior do que nas
situaes de metaplasia de tipo I ou tipo II. Por isso, nas populaes de alto risco de
cancro, recomenda-se a obteno de bipsias para identificar a metaplasia intestinal
de tipo III, que mais frequente na grande curvatura do antro.
b. Diagnstico
O diagnstico da gastrite crnica por infeco Hp exclusivamente histolgico. O
exame endoscpico no caracteriza, de forma rigorosa esta entidade. De facto, no
h correlao entre os achados histolgicos e endoscpicos.
Uma avaliao correcta do quadro de gastrite crnica exige a satisfao das seguin-
tes recomendaes:
(1) Obteno de cinco bipsias: duas no antro, a cerca de 2-3 cm do canal pilri-
co, sendo uma da pequena curvatura e outra de grande curvatura; duas no
corpo, a cerca de 8 cm do cardia, sendo uma colhida na parede anterior, e outra
na parede posterior; e uma quinta na incisura angularis, onde se localizam, de
forma consistente, os graus mximos de atrofia e metaplasia intestinal.
(2) As bipsias do antro, corpo e incisura angularis devem ser separadamente
identificadas.
(3) essencial informar o anatomopatologista sobre os achados endoscpicos, a
histria clnica e os locais das bipsias.
(4) So necessrias coloraes especiais para deteco do Hp e da metaplasia
intestinal.
(5) Deve ser avaliada, pelo anatomopatologista, a presena ou ausncia de Hp, a
inflamao crnica, a actividade dos neutrfilos polimorfonucleares, a atrofia
glandular e a metaplasia intestinal. Quando presente, cada um destes parme-
tros deve ser graduado numa escala de ligeiro, moderado ou marcado.
(6) Outras caractersticas histolgicas que devem ser analisadas: leso do epitlio
de superfcie, depleo de muco e eroses; foliculos linfides (encontrados em
quase 100% das gastrites associadas ao Hp); hiperplasia das criptas; metapla-
sia pseudo-pilrica.
(7) Relativamente topografia da gastrite crnica, importa avaliar e categorizar o
padro de distribuio. A maioria dos casos evidenciam inflamao crnica
mais ou menos difusa, mas em certos casos o processo inflamatrio atinge
mais o antro do que o corpo, ou vice-versa. Por outro lado, os padres de atro-
fia e de metaplasia intestinal, se presentes, devem ser catalogados de multifo-
cais ou difusos.
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
137
c. Tratamento
A gastrite crnica activa da infeco Hp permanece assintomtica na maioria dos indi-
vduos infectados. No existe correlao nem provavelmente ligao, entre a presen-
a e a severidade do processo lesional e as queixas clnicas eventualmente referidas
pelo doente.A lcera pptica desenvolve-se em cerca de um em seis indivduos infec-
tados. A displasia gstrica, o adenocarcinoma e o linfoma tipo MALT, so eventuais
sequelas da infeco, no entanto muito mais raras.
As leses de gastrite crnica activa, sem atrofia nem metaplasia intestinal, podem
reverter aps teraputica de erradicao bem sucedida. No entanto, no existem
dados conclusivos quanto reversibilidade das leses de metaplasia intestinal e da
atrofia, os dois mais prevalentes precursores do carcinoma tipo intestinal.
Tendo em conta estes considerandos, entendimento actual que o rastreio popula-
cional utilizando testes serolgicos, tendo em vista a deteco do Hp e seu tratamen-
to, uma medida injustificada, no plano cientfico e econmico.
No plano individual, pode admitir-se o rastreio da infeco Hp, e seu tratamento, aps
anlise de alguns factores, designadamente a histria familiar de cancro, a histria
pessoal, a idade, a ansiedade do doente e a existncia de queixas disppticas funcio-
nais refractrias teraputica convencional.
B. OUTRAS GASTRITES INFECCIOSAS
O Helicobacter pylori o agente etiolgico da grande maioria das gastrites infeccio-
sas no mundo. Outros microorganismos podem, no entanto, induzir uma infeco na
mucosa gstrica.
I INFECES VIRAIS
Os comuns enterovirus e rotavirus provavelmente no infectam a mucosa gstrica. O
vrus do Herpes pode induzir quadros de gastrite em doentes com a sindrome da imu-
nodeficincia adquirida. No entanto, a nica infeco do estmago com caractersti-
cas histolgicas distintas, a induzida pelo citomegalovirus (CMV)
Encontra-se evidncia da infeco CMV em 40-100% de adultos em vrias populaes.
A prevalncia correlaciona-se directamente com a situao socio-
-econmica e com hbitos sexuais. As infeces agudas so frequentemente assinto-
mticas. Uma vez adquirida a infeco, a evoluo de latncia ao longo da vida,
sendo a reactivao do vrus e o desenvolvimento de sintomas mais frequentemen-
te observados em doentes com alterao da imunidade.
Macroscopicamente, as hemorragias intramucosas, eroses e ulceraes superficiais
caracterizam a agresso da mucosa gstrica pelo CMV. A identificao das clulas cito-
meglicas, evidncia inequvoca de infeco tissular. Estas clulas so usualmente
Doenas do Aparelho Digestivo
138
grandes (25-35 ,m) e contm uma incluso nuclear proeminente e basoflica, frequen-
temente rodeada de um halo claro (efeito de olho de boi). Estas clulas esto sem-
pre associadas com o antignio CMV ou com o CMV-DNA.
A gastrite por CMV encontra-se quase sempre associada a infeces por este agente
noutras zonas do tracto gastrointestinal, mais comummente o esfago e o duodeno.
Os doentes com sida apresentam frequentemente esta infeco quando a contagem
dos CD4 cai abaixo de 100/mm3. A infeco por CMV tambm pode ocorrer aps trans-
plante de medula, rim ou corao. Por vezes ocorre associao com corticoterpia.
No adulto, a doena sintomtica traduz-se por dor epigstrica, nuseas, vmitos e
febre. Sucedem por vezes complicaes: hemorragia, obstruo piloro-bulbar e perfu-
rao gstrica. O exame endoscpico pode revelar-se normal, ou evidenciar achados
sugestivos mas no diagnsticos (eritema, hemorragia sub-epiteliais, eroses e ulce-
raes dispersas). O diagnstico da gastrite por CMV baseia-se fundamentalmente nos
dados do estudo histolgico das bipsias, ao detectar as clulas citomeglicas tpi-
cas (sobretudo utilizando a colorao de Genta). Em caso de necessidade, devem uti-
lizar-se tcnicas mais sofisticadas: imunofluorescncia, hibridizao in situ, cultura,
PCR.
A gastrite por CMV, no contexto de um quadro de deficincia imunitria, requer fre-
quentemente tratamento. O Ganciclovir e o Foscarnet so os frmacos utilizados.
II - INFECES BACTERIANAS
Vrias bactrias podem desenvolver-se no estmago particularmente em doentes com
profunda hipocloridria por gastrectomia parcial, gastrite atrfica ou teraputica pro-
longada com IBP ou inibidores H2. Os microorganismos detectados so os que usual-
mente habitam na cavidade oral, e raramente induzem processos de gastrite ou infec-
o clinicamente aparente, salvo em determinadas circunstncias (isqumia, imunode-
presso). Outras bactrias (Micobactrias e Treponema pallidum) infectam o estma-
go durante o decurso de infeces sistmicas, induzindo leses peculiares da muco-
sa gstrica:
Gastrite fleimonosa
uma gastrite aguda supurada causada por bactrias piognicas. uma situao cli-
nicamente rara, mas extremamente perigosa. Caracteriza-se pela presena de extensas
reas de necrose purulenta envolvendo toda a espessura da parede gstrica. Exige
teraputica de emergncia, sendo frequentemente necessria a gastrectomia. A mor-
talidade elevada.
Infeco gstrica por Micobactrias
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
139
Em doentes com tuberculose disseminada, podem detectar-se na mucosa gstrica gra-
nulomas necrosados idnticos aos encontrados noutras regies do organismo.A tuber-
culose primria do estmago rara.
Nos doentes com sida, o estmago pode ser infectado pelo Mycobacterium avium.
Sfilis gstrica
A gastrite sifiltica a infeco do estmago pelo Treponema pallidum. Usualmente
diagnosticada quando h leses gstricas da mucosa num doente com evidncia sero-
lgica de sfilis activa, evidenciando-se o T. pallidum no estudo histolgico.
Dois tipos de leses podem ocorrer no estmago: gastrite difusa, com variantes, tpi-
cas da fase secundria da doena; e leses infiltrativas ou massas gstricas, mimeti-
zando o carcinoma, caractersticas da fase terciria da sfilis.
A maioria dos doentes com envolvimento gstrico na sfilis secundria, so usualmen-
te assintomticos. Quando existem sintomas, so inespecficos: epigastralgias, vmi-
tos e perda de peso. A apresentao clnica de leses gstricas da sfilis terciria, lem-
bra a do carcinoma gstrico.
O diagnstico envolve o estudo serolgico convencional e o exame histolgico das
bipsias gstricas, com informao explcita ao anatomopatologista da hiptese diag-
nstica, no sentido de serem aplicadas tcnicas especiais de identificao do T. palli-
dum. Nas formas tercirias de sfilis gstrica, este organismo usualmente no detec-
tado. Se a serologia positiva e as bipsias no confirmam malignidade, justifica-se
um tratamento de 8 semanas com penicilina.
II - INFECES FNGICAS E PARASITRIAS
A infeco do estmago por Candida encontra-se virtualmente limitada colonizao
de lceras ou de eroses preexistentes. O Histoplasma capsulatum pode invadir a
mucosa gstrica, ainda que raramente, durante um processo de histoplasmose.
O estmago no a sede preferida para infeces parasitrias. Contudo, protozorios
oportunistas e o nemtodo strongyloides stercoralis podem raramente infectar a
mucosa gstrica de doentes imunodeprimidos ou que apresentam quadros severos de
gastrite atrfica e metaplasia intestinal extensa.
Doenas do Aparelho Digestivo
140
2. GASTRITE AUTO-IMUNE
a. Definio
A gastrite auto-imune um tipo de gastrite crnica atrfica que atinge o corpo e a
zona fndica, sendo caracterizada por uma atrofia severa e difusa das glndulas cido-
ppticas com acloridria. Associa-se usualmente a anticorpos anti-clulas parietais, a
anticorpos anti-factor intrnseco e a deficincia deste factor, com ou sem anemia per-
niciosa.
A gastrite auto-imune difere da gastrite atrfica severa do Helicobacter pylori, pela
ausncia de colonizao do Hp, pela falta de clulas parietais maduras e por apresen-
tar um infiltrado monomrfico de clulas linfides. Contudo, podem existir padres de
transio entre a gastrite atrfica multifocal tpica da infeco Hp, e a atrofia difusa
da gastrite auto-imune.
b. Patognese
A clula parietal o principal alvo da doena. Esta clula possui pelo menos trs
auto-antignios: factor intrnseco (FI), citoplasmtico (microssmico-canalicular) e anti-
gnios de membrana. Na anemia perniciosa (AP) so detectados anticorpos contra
estes trs tipos de antignios, enquanto que na gastrite auto-imune sem AP, s tm
sido consistemtente detectados anticorpos anti-parietais (contra os auto-antignios
citoplasmticos).
H dois tipo de anticorpos anti-FI: tipo I que bloqueia o local de ligao do comple-
xo FI-cobalamina, impedindo assim a absoro da vit.B12; e o tipo II, que pode impe-
dir o acoplamento do complexo FI-cobalamina ao local usual de ligao no leo. A pre-
valncia do anticorpo tipo I de 31-67%, ocorrendo menos frequentemente o anticor-
po tipo II, se bem que estudos recentes com ELISA apontem para prevalncias mais
elevadas.
Os anticorpos sricos anti-FI so principalmente imunoglobulinas IgG. Nos doentes
com AP, os tipos I e II encontram-se com mais frequncia no suco gstrico do que no
soro. Estes anticorpos encontram-se sobretudo nas formas avanadas de gastrite
auto-imune. So raramente detectados em doentes com gastrite auto-imune modera-
da, ou sem evidncia de m absoro da vit. B12.
Os principais auto-antignios das clulas parietais so as sub-unidades e da
bomba de protes (H
+
, K
+
- adenosina trifosfatase), localizadas no sistema canalicular.
Nos doentes com AP, detectam-se no soro, pelo mtodo ELISA, anticorpos anti-clu-
las parietais em cerca de 93% dos casos. Nos doentes com gastrite crnica atrfica
sem AP, essa percentagem situa-se entre 30-60%. Estes anticorpos podem ser detec-
tados tambm no suco gstrico. Desconhece-se o papel destes auto-anticorpos na
gnese da gastrite auto-imune. Sabe-se que o seu titulo declina medida que desa-
parecem as clulas parietais.
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
141
Anticorpos anti-clulas parietais podem ser detectados em endocrinopatias auto-imu-
nes, designadamente na tiroidite de Hashimoto, tirotoxicose, mixedema e hipotiroidis-
mo. Por outro lado, anticorpos anti-tiroideus so detectados em mais de metade dos
doentes com AP. Tambm tm sido detectados anticorpos anti-clulas parietais na
doena de Addison, na diabetes mellitus, no hipoparatiroidismo, no vitiligo, na der-
matite herpetiforme, na sindrome de Sjgren e na artrite reumatide. A prevalncia
de gastrite auto-imune parece estar aumentada nestas doenas.
Na patognese da gastrite auto-imune interviriam tambm, segundo alguns autores,
factores de ordem gentica. De facto, anlises genticas evidenciaram que o fentipo
A de gastrite presente em doentes com AP, e seus familiares, transmitido por um
nico gene dominante.
H dados que tambm sugerem uma ligao patognica entre a infeco Hp e a gas-
trite auto-imune. De facto, na maioria dos casos de doentes com este tipo de gastri-
te, detectam-se anticorpos circulantes anti-Hp. Pensa-se, actualmente, que muito
possvel a participao da infeco Hp nos estdios iniciais da gastrite auto-
-imune. A resposta inflamatria iniciada pela infeco Hp, destruiria as clulas parie-
tais e determinaria a libertao de antignios dessas clulas, os quais, em indivduos
geneticamente predispostos, induziriam uma resposta auto-imune.
c. Histopatologia
A principal caracterstica histopatolgica da gastrite auto-imune o envolvimento difu-
so da mucosa do corpo e da zona fndica por gastrite crnica atrfica com metapla-
sia intestinal mnima, e um antro gstrico normal. Este o padro tpico da fase avan-
ada da doena, associada a AP. Nos estdios iniciais, no entanto, pode ser difcil a
distino com a gastrite atrfica multifocal da infeco Hp.
Reconhecem-se actualmente trs etapas no processo de desenvolvimento da gastrite
auto-imune: (1) fase inicial, (2) fase florida e (3) fase final.
(1) Fase inicial. caracterizada por:
- Infiltrao densa de toda a lamina propria por clulas mononucleares, frequente-
mente com eosinfilos e alguns mastcitos. A infiltrao difusa ou multifocal.
- Destruio parcial de glndulas acido-ppticas por infiltrao linfocitria agressi-
va.
- Metaplasia pseudo-pilrica, substituindo parcialmente as glndulas perdidas.
- Alteraes hipertrficas das clulas parietais residuais.
- Presena, nalguns casos, de colonizao Hp focal, com escassa actividade.
(2) Fase florida. caracterizada por:
- Extensa ou subtotal obliterao e atrofia das glndulas fndicas.
- Infiltrao difusa da lamina propria por clulas mononucleares (a maioria linfci-
tos).
- Normal ou reduzida espessura da mucosa , com um relativo incremento do com-
Doenas do Aparelho Digestivo
142
ponente foveolar.
- Extensa hiperplasia das clulas do colo glandular, combinada com metaplasia
pilrica e metaplasia intestinal.
(3) Fase final. caracterizada por:
- Grande reduo na espessura da mucosa.
- Hiperplasia foveolar com alongamento e alteraes qusticas das criptas, com ou
sem plipos hiperplsicos.
- No se detectam clulas parietais e principais, virtualmente desaparecem todas
as glndulas cido-ppticas, ou sofreram metaplasia pilrica, pseudo-pilrica ,
pancretica ou intestinal.
- O infiltrado inflamatrio encontra-se muito reduzido ou ausente, embora ainda
possam existir alguns agregados ou foliculos linfides dispersos.
- A muscularis mucosae torna-se trs a quatro vezes mais espessa do que o nor-
mal.
d. Aspectos Clinicopatolgicos
A maioria das manifestaes clnicas da gastrite auto-imune resultam da perda das
clulas parietais e principais da mucosa oxntica, e s se tornam aparentes nas fases
florida e final da doena. Os principais aspectos clnicos so:
1) Acloridria. Dado que esta pode ocorrer durante a fase inicial da doena, com
clulas parietais ainda funcionantes, postula-se um possvel papel directo de
anticorpos anti-bomba de protes.
2) Hipergastrinmia. Os doentes com atrofia fndica e acloridria exibem nveis
muito elevados de gastrinmia basal e ps-prandial, se a mucosa antral est
intacta. Em sries publicadas de famlias com AP, a sensibilidade de gastrin-
mias elevadas (> 100 p mol/L) para o diagnstico de gastrite auto-imune seve-
ra, foi de 82.6% e a especificidade de 97.3%.
3) Perda de Pepsina e Pepsinogneos. A leso das clulas principais ou ppticas
induz uma reduo da actividade da pepsina no suco gstrico, e dos pepsino-
gneos no sangue. O achado de um baixo nvel do pepsinogneo I (< 20 ng/ml)
tem uma sensibilidade de 96.2% e uma especificidade de 97% na deteco de
atrofia da zona fndica, sendo por isso til no rastreio de indivduos com gas-
trite auto-imune.
4) Anemia. Numa proporo significativa de doentes com gastrite auto-imune,
desenvolvem-se quadros de anemia ferropnica ou de AP. A acloridria parece ser
o maior factor na patognese da anemia por carncia de ferro, porque o cido
clordrico importante na absoro deste oligoelemento. A AP associa-se usual-
mente a um quadro histolgico tipico das fases avanadas da gastrite. Contudo
a gastrite crnica severa no se associa necessariamente a AP. Nesta situao a
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
143
anemia megaloblstica frequentemente severa, e o diagnstico baseado no
achado de acloridria, quer basal ou ps-estimulao, nveis baixos de cobala-
mina no soro (< 100 pg/ml) e um teste de Schilling anormal, que corrigido pela
adio de FI. A anemia responde cabalmente ao tratamento parenteral com vit.
B12.
5) Risco aumentado de cancro gstrico. Os tumores gstricos associados gastri-
te auto-imune, so plipos hiperplsicos ou adenomatosos, carcinomas, linfo-
mas malignos e tumores endcrinos. Os plipos so detectados em 20-40%
dos doentes com AP. Frequentemente so ssseis e mltiplos.
Histologicamente, a maioria deles so hiperplsicos mas alguns contm focos
displsicos. A anemia perniciosa uma doena rara, com uma prevalncia infe-
rior a 1% mesmo em doentes com idade superior a 65 anos, em pases de alta
incidncia. Embora o risco de malignizao gstrica em doentes com AP seja
mais elevado do que na populao global, essa pequena populao de doen-
tes com AP no contribui, de forma significativa, para a incidncia global de can-
cro gstrico.
3. GASTRITE LINFOCTICA
A gastrite linfcitica uma entidade histopatolgica caracterizada por densa infiltra-
o do epitlio gstrico por linfcitos T, a maioria do tipo CD8. Este infiltrado atinge
sempre o corpo gstrico e o antro, sendo aqui menos intenso e frequentemente mul-
tifocal. Esta infiltrao celular pode estender-se ao duodeno.
A densidade linfoctica contrasta com outros tipos de gastrite, onde o nmero de lin-
fcitos geralmente baixo, raramente excedendo 10% das clulas do epitlio de
superfcie. Vrios nveis foram propostos para incluso de um determinado caso na
categoria de gastrite linfoctica; esses nmeros variam entre 20 a 30 linfcitos por 100
clulas epiteliais.
A lamina propria est envolvida no processo inflamatrio e contem linfcitos (CD8 e
CD4) em propores equivalentes , e raras clulas B e plasmcitos.
A gastrite linfcitica uma entidade rara com varivel distribuio geogrfica. Na
Europa, representa 1.8-4.55 das doenas gstricas no neoplsicas. Pode surgir na
infncia, mas sobretudo um processo que atinge o adulto idoso, sem predomnio
de sexo.
Nos pases europeus, este tipo de gastrite apresenta-se endoscopicamente, na maio-
ria dos casos, sob a forma de pregas engrossadas com eroses aftides, usualmente
denominada de gastrite varioliforme. Esta relao clara no que respeita s formas
de gastrite linfoctica que atingem o corpo e a zona fndica, mas j no existe corre-
lao quando a gastrite varioliforme atinge exclusivamente o antro. Neste caso no
existe usualmente gastrite linfoctica, mas sim gastrite crnica ou reactiva.
A doena celaca pode manifestar-se no estmago sob a forma de gastrite linfoctica.
Doenas do Aparelho Digestivo
144
Tambm tem sido reportado que este tipo de gastrite se associa doena de
Mntrier. H controvrsia neste ponto.
Ao contrrio da gastrite crnica do Hp, a gastrite linfoctica pode originar um quadro
sintomtico severo, com dor, anorexia e perda de peso, sugerindo por vezes um pro-
cesso maligno. Nalguns casos, ocorre uma gastroenteropatia exsudativa, originando
edema e hipoproteinmia.
Embora possa ocorrer cura espontnea, o processo assume usualmente uma feio
crnica. Os tratamentos mais positivos tm sido obtidos com inibidores da bomba de
protes.
A etiopatogenia da gastrite linfoctica ainda obscura. Processo alrgico ? Reaco
imune contra antignios luminais (gluten ?) Efeito da infeco Hp?
4. GASTRITE GRANULOMATOSA
No quadro seguinte indicam-se as principais condies que podem originar granulo-
mas na mucosa gstrica:
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
145
CAUSA INFECCIOSA
Bacteriana
- Tuberculose
- Sfilis
- Doena de Whipple
- Helicobacter pylori
Fngica
- Histoplasmose
Parasitria
- Anisakiasis
- Estrongiloidase
CORPOS ESTRANHOS
Suturas
Alimentos
Xantogranuloma
Embora a identificao de um granuloma na mucosa gstrica seja usualmente fcil,
por vezes muito difcil, ou mesmo impossvel definir a etiologia do granuloma. De
acordo com Genta, o seguinte algoritmo pode auxiliar na abordagem diagnstica dos
granulomas da mucosa gstrica:
POSSVEIS CAUSAS DE GRANULOMAS NA MUCOSA GSTRICA
TUMORES
Carcinoma
Linfoma
Granuloma de plasmcitos
DOENA GRANULOMATOSA DE ETIOLOGIA
DESCONHECIDA
Vasculite de causa imune
Granulomatose de Wegener
Doena de Crohn
Sarcoidose
Gastrite granulomatosa isolada
5. GASTRITE / GASTROPATIA REACTIVA
A gastrite ou gastropatia reactiva, uma das leses mais comuns do estmago, no
entanto ainda no correctamente valorizada . Porque as clulas inflamatrias so
usualmente um componente menor do processo histolgico, alguns autores preferem
designar esta entidade de gastropatia reactiva.
O padro histolgico da gastrite reactiva foi descrito pela primeira vez no estmago
operado de gastrectomia parcial por lcera, sendo explicado pela ocorrncia de reflu-
xo duodenogstrico. No entanto, apurou-se entretanto que outras causas podem indu-
zir um padro histolgico similar.
GRANULOMA
CASEIFICADO NO CASEIFICADO
SEM
CONTEDO
CONTEDO
IDENTIFICADO
Colorao para
BK e fungos
Tuberculose
Histoplasmose
Sarcide
isolado:
Gastrite granulomatosa
Crohn
+
Sutura
Outros corpos estranhos
Alimentos
PCR para BK
Avaliao da mucosa circundante para:
- Gastrite
- Evidncia de infeco
- Neoplasia
Obter histria clnica
Doenas do Aparelho Digestivo
146
Histopatologia
As caractersticas histopatolgicas mais distintivas da gastrite ou gastropatia reactiva
so:
- Depleo da mucina do epitlio de superfcie e das criptas.
- Hiperplasia foveolar, conferindo mucosa uma aparncia viliforme.
- Ncleos proeminentes, hipercromticos, que ocupam grande parte das clulas.
- A leso epitelial pode progredir para eroses ou lceras.
- Edema e vasodilatao na lamina propria, consequncia provvel da libertao
de histamina.
- Hiperplasia fibromuscular (fibras lisas).
- Pobreza de clulas inflamatrias (da a designao de gastropatia).
Etiologia
As condies que podem evidenciar alteraes de gastropatia reactiva so:
- Refluxo duodenogstrico
- Consumo de aspirina e AINEs
- lcool
- Distrbios vasculares (choque, isqumia, stress)
- Radio e quimioterpia
- Causa idioptica
O refluxo duodenogstrico e o consumo de AINEs so as causas mais frequentes.
Refluxo duodenogstrico
- Os cidos biliares e os componentes do suco pancretico, sobretudo a tripsina,
podem causar leses da mucosa gstrica com caractersticas histopatolgicas de
gastrite reactiva (ou qumica). Existe uma relao entre a concentrao dos ci-
dos biliares no estmago, a cintica celular e a hiperplasia das criptas.
- O quadro histolgico de refluxo duodenogstrico no se correlaciona com acha-
dos clnico-endoscpicos. No doente ps-gastrectomizado a sindrome da gastri-
te por refluxo biliar caracterizada por dispepsia ps-prandial, nuseas e vmi-
tos. H uma correlao muito fraca entre estes sintomas subjectivos, os achados
endoscpicos, a severidade das alteraes histolgicas e a quantidade de cidos
biliares no coto gstrico.
Aspirina e AINEs
- A utilizao crnica destes frmacos pode induzir leses de gastropatia reactiva,
eventualmente complicadas de eroses ou lceras, que podem sangrar ou perfu-
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
147
rar.
- Tem sido estimado que nos doentes que consomem cronicamente AINEs, as ero-
ses gstricas surgem em 40-50% dos casos, enquanto que as lceras ppticas
se desenvolvem em mais 15-20%. Os doentes com consumo crnico dos AINEs
tradicionais, tm um risco 4 vezes maior de desenvolverem uma lcera gstrica,
2.5 vezes maior de terem uma hemorragia digestiva alta, e ainda um maior risco
de morte por estas complicaes. A incidncia destas complicaes maior no
doente idoso, no sexo feminino, no doente debilitado, nos que apresentam his-
tria prvia de ditese ulcerosa e nos doentes que tomam anticoagulantes ou
corticides em dose elevada.
- No doente que consome regularmente aspirina ou AINEs anti-COX1, a gastropatia
reactiva detectada em 10-45% dos doentes. Estas alteraes representariam um
processo de adaptao gstrica aos efeitos lesivos destes frmacos na mucosa
superficial.
- Como veremos noutro capitulo (ver lcera pptica), a patofisiologia das leses
gstricas por AINEs complexa, resultando da aco de efeitos locais e sistmi-
cos.
6. GASTROPATIAS VASCULARES
As gastropatias vasculares so caracterizadas por anomalias dos vasos da mucosa
gstrica com escassa ou nula inflamao. As mais importantes gastropatias vascula-
res so as ectasias antrais (watermelon stomach syndrome) e a gastropatia hiperten-
siva portal.
A.ECTASIAS VASCULARES ANTRAIS (ESTMAGO em melancia)
Esta sindrome ocorre mais frequentemente no sexo feminino e no doente idoso. A
apresentao clinica consiste em hemorragias ocultas (80-90%), melena (8%) e hema-
temeses (3%). Cerca de 60% dos doentes requerem transfuso de sangue.
A gastrite atrfica, a acloridria, a hipergastrinmia e a anemia perniciosa associam-se
frequentemente a esta sindrome.
Tambm tem sido descrita a associao desta sindrome de ectasias vasculares antrais
com doenas auto-imunes e do tecido conectivo.
controversa a relao desta sindrome com a doena heptica. Segundo alguns tra-
balhos, 18-40% dos quadros endoscpicos de estmago em melancia esto asso-
ciados a doena heptica crnica. Alguns investigadores defendem que a sindrome do
estmago em melancia em doentes com hipertenso portal, uma variante da gas-
Doenas do Aparelho Digestivo
148
tropatia hipertensiva portal. Outros autores no entanto assumem que se trata de duas
entidades separadas e distintas, com diferente patognese, se bem que possam coe-
xistir.
A caracterstica mais peculiar desta sindrome de ectasias vasculares antrais, o aspec-
to endoscpico. Na referencia original de Jabbari et al., pode ler-se o aspecto endos-
cpico dos doentes era uniforme e notavelmente caracterstico. Observavam-se pre-
gas antrais longitudinais convergindo para o piloro, contendo colunas visveis de
vasos ectasiados, avermelhados e tortuosos. Porque estas colunas longitudinais
colectivamente lembravam os verges da melancia, Jabbaria et al. designaram este
quadro endoscpico de watermelon stomach.
Desconhece-se ainda a patognese desta sindrome . Para alguns autores, resultaria
da contraco muscular acentuada do antro, predispondo obstruo venosa e sub-
sequente formao de ectasias vasculares. O prolapso da mucosa antral atravs do
piloro, seria igualmente factor predisponente. Ainda para outros investigadores, a
hipergastrinmia desempenharia um papel no desencadear desta sindrome.
Histolgicamente, os quadros de ectasia vascular antral do estmago, tambm cha-
mados de GAVE (gastric antral vascular ectasia) caracterizam-se pela existncia de
capilares muito dilatados na lamina propria, a maioria deles com trombos de fibrina.
As clulas inflamatrias so escassas, e existe hiperplasia fibromuscular, com expan-
so das fibras musculares lisas da muscularis mucosae para a lamina superficial.
Nas formas ligeiras, o tratamento marcial e eventuais transfuses controlam a situao.
Alguns autores propugnam a corticoterpia ou a associao estrognios/progesterona.
Nas formas mais graves, dependentes de transfuses repetidas, recorre-se actualmen-
te teraputica hemosttica endoscpica e, raramente, antrectomia.
B. GASTROPATIA HIPERTENSIVA PORTAL
Vrios estudos endoscpicos reportam uma incidncia de 30-40% de hemorragias
com sede gstrica em doentes com hipertenso portal e varizes esofgicas. A gastri-
te hemorrgica tem sido postulada como manifestao de hipertenso portal severa
associada a hepatopatia crnica avanada.
Em 1985, Mc Cormack et al. descreveram os achados clnicos, endoscpicos e histo-
lgicos de 127 doentes com hipertenso portal. 51% dos doentes tinham gastrite
classificada em dois grandes grupos, de acordo com a classificao endoscpica pro-
posta por Taor et al.:
Gastrite ligeira
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
149
1. Rash tipo escarlatina
2. Eritema superficial nas pregas, simulando verges.
3. Padro em mosaico, com reticulado fino separando reas de mucosa edemacia-
da e eritematosa, lembrando pele de serpente.
Gastrite severa
1. Mculas vermelho cereja disseminadas.
2. Gastrite hemorrgica difusa.
As formas endoscpicas de gastrite ligeira raramente sangram. Pelo contrrio, as for-
mas de gastrite severa podem complicar-se de hemorragias clinicamente significati-
vas.
A presena de gastropatia hipertensiva portal no se correlaciona com a severidade
da hipertenso portal ou com a severidade da doena, avaliada pela classificao de
Child.
No existe evidncia de que esta gastropatia ocorra mais frequentemente em situa-
es de hipertenso de origem cirrtica vs no-cirrtica.
A presena de gastropatia tem sido observada mais frequentemente aps escleroter-
pia.
O risco de hemorragia na gastropatia hipertensiva portal correlaciona-se essencial-
mente com a sua severidade endoscpica. Numa conferencia de consenso recente
concluiu-se que o padro em mosaico, que sobretudo mais prevalente no corpo e
na zona fndica do estmago, embora seja o sinal endoscpico mais fivel de gas-
tropatia hipertensiva ligeira, tem um baixo risco de hemorragia. Pelo contrrio, as
manchas vermelhas, especialmente se difusas, traduzem uma gastropatia severa, com
elevado risco de hemorragia.
Em contraste com o estmago em melancia, as alteraes histolgicas da gastropa-
tia hipertensiva portal so mais proeminentes na zona proximal do estmago do que
na zona distal. Alm disso, as alteraes vasculares localizam-se em vasos mais pro-
fundos, a nvel da submucosa, pelo que as bipsias no chegam a atingir muitas
vezes essas alteraes. As pequenas veias e os capilares apresentam graus variveis
de dilatao, irregularidade e tortuosidade, por vezes com espessamento da parede.
Para efeito de definio histolgica da gastropatia hipertensiva portal, o achado de
dilataes capilares na mucosa superficial no tem significado, uma vez que pode
verificar-se em indivduos normais.
Tem sido ensaiada a teraputica com propranolol na preveno e no tratamento das
complicaes hemorrgicas da gastropatia hipertensiva portal. Os resultados so con-
troversos. A teraputica hemosttica endoscpica tambm tem sido utilizada bem
Doenas do Aparelho Digestivo
150
como o TIPS (shunt transjugular intra-heptico porto-sistmico). A descompresso
cirrgica portal eficaz na preveno da recorrncia hemorrgica, segundo vrios tra-
balhos.
ESTMAGO E DUODENO - Gastrite
151
REFERNCIAS
Yardley JH, Hendrix TR. Gastritis, duodenitis, and associated ulcerative lesions. In: Yamada T, ed. Textbook of Gastroenterology.
J.B Lippincott Co. 1995: 1456-1493.
Weinstein WM. Other Types of gastritis and gastropathies. In: Feldman M, Sleisenger MH, eds. Gastrointestinal and liver disease.
W.B. Saunders Co 1998: 711-732.
Riddell RH, Guindi, M. The pathology of epithelial pre-malignancy of the gastro-intestinal tract. Best Practice & Research Clin Gastroenterol.
2001; 15 (2): 191-210.
Graham DY, Genta RM, Dixon M, eds. Gastritis. Lippincott Williams & Wilkins, 1999.
Schultze V, Hackelsberger A, Gnther T et al. Differing patterns of Helicobacter pylori gastritis in patients with duodenal, prepyloric, and gas-
tric ulcer disease. Scand J Gastroenterol. 1998; 33: 137-142.
Wallace JL. Nonsteroidal anti-inflamatory drugs and gastroenteropathy: the second hundred years. Gastroenterology 1997; 112: 1000-1016.
Cryer B, Kimmey MB. Gastrointestinal side effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Am J Med 1998; 105 (1B): 20 S-30S.
Rubin CE. Are there three types of Helicobacter pylori gastritis? Gastroenterology 1997; 112: 2108-2110.
Sofia C, Freitas D, Monteiro JG. Alcoolismo e gastrite crnica. Rev. Gastroenterol 1992; 9 (41): 99
Sanguino JABC. Eroses gstricas e duodenais crnicas. Tese de doutoramento. Lisboa 1994.
Maas F, Sequeira C, Freitas D et al. Reaces adversas gastrintestinais dos anti-inflamatrios no esterides. Rev. Port Reumat e Patol.
Osteo-Articular 2000; 11: 2905-2921.
Nogueira C, Figueiredo C, Carneiro F et al. Associao entre os gentipos de Helicobacter pylori e o desenvolvimento de gastrite crnica
atrfica e metaplasia intestinal. Primeiros resultados de uma aco de rastreio. GE J Port. Gastrenterol. 2000 ; 7 : 138-146.
Chaves P, Fernando A, Carneiro F et al. Displasia gstrica. Conceito e classificao. GE J. Port. Gastroenterol. 1997 ; 4 : 53-62.
Wallace JL. Pathogenesis of NSAID induo gastroduodenal mucosal injury. Best Pract & Res. Clin Gastroenterol. 2001; 15 (5): 691-704.
Aalykke C, Lauritsen K. Epidemiology of NSAID related gastroduodenal mucosal injury. Best Pract & Res.
Clin Gastroenterol. 2001; 15 (5): 705-722
Bazzoli F, De Luca L, Grahan DY. Helicobacter pylori infection and the use of NSAIDs. Best Pract Res. Clin Gastroenterol. 2001; 15 (5): 775-
786.
Pina Cabral JE, Portela F, Freitas D et al. Leses gstricas difusas na hipertenso portal. Rev. Gastroenterol. 1993; X: 141-150.
Carrilho Ribeiro L. Reaces adversas gastrintestinais dos anti-inflamatrios no esterides. Rev. Gastrenterol. & Cir 2000; XVII: 55-64.
Romozinho JM. Gastrite crnica e cancro do estmago. Contribuio para o estudo da sua relao (Ed. do autor). Tese de doutoramento,
Coimbra 1990.
Bordalo O. lcool e tubo digestivo. Rev. Gastrenterol. 1986; 13 (Supl.): 1-24.
Vasconcelos Teixeira, A. Anti-inflamatrios e mucosa gstrica. Ed. do Autor. Porto, 1984.
Graham DY. Community acquired acute Helicobacter pylori gastritis. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Dec;15(12):1353-5.
Satoh K. Does eradication of Helicobacter pylori reverse atrophic gastritis or intestinal metaplasia? Data from Japan. Gastroenterol Clin North
Am. 2000 Dec;29(4):829-35.
Zarrilli R, Ricci V, Romano M. Molecular response of gastric epithelial cells to Helicobacter pylori-induced cell damage. Cell Microbiol. 1999
Sep;1(2):93-9.
Nagura H, Ohtani H, Sasano H, Matsumoto T. The immuno-inflammatory mechanism for tissue injury in inflammatory bowel disease and
Helicobacter pylori-infected chronic active gastritis. Roles of the mucosal immune system. Digestion. 2001;63 Suppl 1:12-21.
McColl KE, el-Omar E, Gillen D. Helicobacter pylori gastritis and gastric physiology. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):687-703.
Alderuccio F, Toh BH. Immunopathology of autoimmune gastritis: lessons from mouse models. Histol Histopathol. 2000 Jul;15(3):869-79.
Genta RM. A year in the life of the gastric mucosa. Gastroenterology. 2000 Jul;119(1):252-4.
Toh BH, Sentry JW, Alderuccio F. The causative H+/K+ ATPase antigen in the pathogenesis of autoimmune gastritis.
Immunol Today. 2000 Jul;21(7):348-54.
Vesoulis Z, Lozanski G, Ravichandran P, Esber E. Collagenous gastritis: a case report, morphologic evaluation, and review.
Mod Pathol. 2000 May;13(5):591-6.
Madura JA. Primary bile reflux gastritis: which treatment is better, Roux-en-Y or biliary diversion? Am Surg. 2000 May;66(5):417-23.
Smith VC, Genta RM. Role of Helicobacter pylori gastritis in gastric atrophy, intestinal metaplasia, and gastric neoplasia. Microsc Res Tech.
2000 Mar 15;48(6):313-20.
Goldblum JR. Inflammation and intestinal metaplasia of the gastric cardia: Helicobacter pylori, gastroesophageal reflux disease, or both. Dig
Dis. 2000;18(1):14-9.
Price AB. Classification of gastritis--yesterday, today and tomorrow. Verh Dtsch Ges Pathol. 1999;83:52-5.
Tytgat GN. Ulcers and gastritis. Endoscopy. 2000 Feb;32(2):108-17.
Spechler SJ. The role of gastric carditis in metaplasia and neoplasia at the gastroesophageal junction. Gastroenterology. 1999 Jul;117(1):218-28.
Taha AS. Non-steroidal anti-inflammatory drug gastropathy and Helicobacter pylori infection. Ital J Gastroenterol Hepatol 1999; 31 Supp; 1:
523-6.
Doenas do Aparelho Digestivo
152
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
153
SECO II - ESTMAGO E DUODENO
CAPTULO VII
DISPEPSIA
1. Conceito
2. Epidemiologia
3. Clnica
4. Patologia
5. Abordagem do Doente Dispptico
153
Doenas do Aparelho Digestivo
1. CONCEITO
Dispepsia um termo de raiz grega que significa literalmente m digesto.
Numerosas definies de dispepsia tm sido propostas. Na reunio multinacional de
consenso realizada em Roma (Roma II, 1999), foi aceite a seguinte definio, actual-
mente a mais consagrada: Dispepsia uma dor ou desconforto centrados no abd-
men superior. A dor localizada no hipocndrio direito ou esquerdo no conside-
rada representativa de dispepsia. Quanto ao significado de desconforto, traduz a exis-
tncia de uma sensao subjectiva e desagradvel, caracterizada por saciedade pre-
coce, enfartamento, distenso ou nusea.
Estes sintomas dolorosos ou desconfortveis podem ser intermitentes ou contnuos,
e podem estar ou no relacionadas com as refeies. Entendeu-se nessa reunio de
consenso que o tempo de durao da dispepsia no deve entrar na sua definio.
Numa perspectiva etiolgica, os doentes com dispepsia podem ser subdivididos em
trs principais categorias:
(1) Doentes com uma causa identificada para os sintomas, isto , com uma expli-
cao estrutural ou bioqumica para as queixas disppticas (por exemplo, lce-
ra pptica). a denominada dispepsia orgnica.
(2) Doentes com anomalias patofisiologicas ou microbiolgicas identificadas mas
de relevncia clnica incerta (por ex. gastrite por Helicobacter pylori, duodeni-
te histologicamente definida, litase vesicular, hipersensibilidade visceral, dis-
motilidade gastroduodenal).
(3) Doentes sem explicao identificada para os sintomas
Os doentes das categorias 2 e 3, que no evidenciam alteraes estruturais ou bio-
qumicas relacionadas indiscutivelmente com os sintomas, tm a chamada dispepsia
funcional. Esta designao prefervel de dispepsia no ulcerosa, uma vez que os
doentes com dispepsia funcional podem apresentar sintomas no sugestivos de lce-
ra pptica, e esta no a nica entidade a excluir nos doentes com dispepsia funcio-
nal.
De acordo com a reunio de consenso de Roma, a dispepsia funcional define-se da
seguinte forma:
(1) Dispepsia persistente, ou recorrente, durante pelo menos 12 semanas, que no
necessitam de ser consecutivas, nos ltimos 12 meses; e
(2) No evidncia de doena orgnica (incluindo o exame endoscpico) que seja a
explicao provvel dos sintomas; e
(3) No evidncia de clon irritvel como causa da dispepsia.
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
155
2. EPIDEMIOLOGIA
H considerveis variaes na estimativa de prevalncia da dispepsia, parcialmente
explicveis pelas definies utilizadas nos vrios estudos. Alguns autores incluram a
azia, por exemplo, nos seus rastreios de base populacional, e outros no. No cmpu-
to geral, estima-se que 15-20% da populao padece de dispepsia no decurso de um
ano, e essa cifra sobe para 40% se se incluir a populao com azia como sintoma pre-
dominante. A dispepsia compreende pelo menos 5% das consultas no ambulatrio.
importante sublinhar que cerca de 30% dos indivduos com dispepsia, referem tam-
bm sintomas de clon irritvel.
A prevalncia de dispepsia similar nos sexos masculino e feminino, e segundo
alguns estudos tenderia a diminuir com a idade.
Permanece controversa a relao entre a dieta, o tabagismo, o lcool, a utilizao de
AINEs e a dispepsia.
Em cerca de 50% dos doentes com dispepsia, a avaliao clnica e os meios comple-
mentares de diagnstico no identificam uma causa estrutural ou bioqumica para os
sintomas. Isto , pelo menos 50% dos doentes com dispepsia tm um quadro clnico
de dispepsia funcional. Segundo alguns autores, essa estimativa peca por defeito
(Bytzer et al, 1994).
H menos dados na literatura sobre a incidncia da dispepsia. Segundo Lock III
(1998), cerca de 10% da populao apresenta queixas disppticas no decurso de 1
ano.
3. CLNICA
A. Introduo
Extrado do documento final da reunio de consenso de Roma, apresentamos o gr-
fico seguinte, na introduo a este captulo sobre a apresentao clnica da dispep-
sia, e sua interelao com outras entidades nosolgicas do tracto digestivo:
Doenas do Aparelho Digestivo
156
Decorre deste grfico, que a apresentao clnica da dispepsia depende, em primeir
lugar, da sua natureza orgnica ou funcional. Em segundo lugar, podem coexistir qua-
dros de dispepsia e de clon irritvel ou DRGE, tornando mais complexo o espectro
clnico.
O quadro clnico da dispepsia orgnica, depende da causa em jogo. No vamos escal-
pelizar esse tpico, nesta exposio sobre dispepsia. Importa no entanto sublinhar
quais as causas mais ou menos comuns de dispepsia orgnica, que devem ser equa-
cionadas no diagnstico diferencial da dispepsia:
Sintomas GI altos Sintomas GI baixos
DRGE
Dispepsia
Clon irritvel
No investigada
Ps-investigao
Dispepsia
orgnica
Dispepsia
funcional
Tipo
lcera
Tipo
dismotilidade
Tipo
inespecfico
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
157
COMENTRIOS
A lcera pptica est presente em cerca de 15-25% dos casos de dispepsia referida
pela primeira vez. Infelizmente, os sintomas no permitem a distino entre lcera
pptica e dispepsia funcional, nem entre lcera gstrica ou duodenal. Est por escla-
recer a origem dos sintomas disppticos recorrentes que podem surgir aps a cicatri-
zao da lcera e a erradicao do Helicobacter pylori.
O carcinoma gstrico causa de 1-3% dos casos de dispepsia. Embora os cancros
avanados apresentem habitualmente sintomas de alarme que obrigam a investigao
apropriada, os carcinomas iniciais do estmago apresentam usualmente um quadro
sintomtico indistinguvel nomeadamente da lcera pptica ou da dispepsia funcio-
nal.
A clica biliar da colelitase tem caractersticas peculiares que a distinguem de outras
doenas orgnicas ou da dispepsia funcional. Quando no ocorre clica biliar, no
existem diferenas nos padres de dispepsia entre grupos com ou sem litase. Cerca
de um tero dos doentes operados, continuam a referir sintomas abdominais.
Desconhece-se a razo da sindrome ps-colecistectomia (na ausncia de leso org-
Doenas do Aparelho Digestivo
158
Causas Gastrointestinais
Causas comuns:
- lcera pptica crnica
- Litase biliar
- Frmacos: AINEs, aspirina, compostos de ferro, digoxina, teofilina, antibiticos,
potssio, e outros
Causas menos comuns ou raras:
- Neoplasia maligna do estmago
- Gastroparsia diabtica
- Isqumia mesentrica crnica
- Pancreatite crnica
- Tumor maligno do pncreas
- Cirurgia gstrica
- Doenas do tracto digestivo baixo (ex. cancro do clon)
- Obstruo intermitente do intestino delgado
- Doenas infiltrativas do estmago (ex. Crohn, sarcoidose)
- Doena celaca
Causas no Gastrointestinais (raras)
- Dor cardaca
- Distrbios metablicos (ex. urmia, hiocalcmia, hipotiroidismo)
- Sindromes da parede abdominal
CAUSAS ORGNICAS DE DISPEPSIA
nica).
As doenas pancreticas so causa rara de dispepsia nos doentes que aparecem com
sintomas pela primeira vez. A isqumia mesentrica crnica no usualmente consi-
derada, enquanto no so excludas causas mais comuns de dor abdominal, perda de
peso e dispepsia. Em 50% dos casos de diabetes de tipo I ou II, detectam-se anoma-
lias no estudo cintigrfico do esvaziamento gstrico. A gastroparsia diabtica traduz-
se por nuseas, vmitos, distenso, dor, perda de peso e saciedade precoce. Este
quadro pode confundir-se com o da dispepsia funcional tipo dismotilidade.
B. Clnica da Dispepsia Funcional
De acordo com o consenso de Roma II, a dispepsia funcional pode dividir-se clinica-
mente em trs grupos: tipo lcera, tipo dismotilidade e tipo inespecfico.
Dispepsia funcional tipo lcera
- A queixa predominante a dor centralizada no abdmen superior.
- A dor bem localizada no epigastro, pode ser aliviada por alimentos (em mais
de 25% dos casos), frequentemente aliviada por anti-cidos ou inibidores da
secreo cida, ocorre frequentemente antes das refeies e por vezes acorda o
doente durante o sono.
- A dor peridica com remisses e recidivas (perodos de pelo menos 2 semanas
sem dor, intervalando com perodos de semanas ou meses com dor).
Dispepsia funcional tipo dismotilidade
- A dor no o sintoma predominante, mas sim o desconforto no abdmen supe-
rior.
- O desconforto deve ser crnico e caracterizado por trs ou mais dos seguintes
sintomas:
Saciedade precoce
Enfartamento ps-prandial
Sensao nauseosa e/ou vmito recorrente
Sensao de distenso na parte alta do abdmen (no acompanhada de
distenso visvel)
Desconforto frequentemente agravado por alimentos
Dispepsia de tipo inespecfico
- Quadro de dispepsia no enquadrvel nos tipos anteriores.
Os critrios de Roma eliminaram do espectro clnico da dispepsia funcional, o chama-
do tipo refluxo, por se entender que os doentes que apresentam azia como queixa
dominante, devem integrar a doena do refluxo gastro-esofgico. Muitos deles tm
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
159
DRGE sem esofagite, mas a pH-metria das 24 horas revela anomalias consonantes com
DRGE, nomeadamente tempos de exposio ao cido superiores aos detectados em
doentes com dispepsia funcional.
Como j referimos, pelo menos 30% dos doentes com dispepsia funcional apresen-
tam simultaneamente queixas de clon irritvel. Apesar de se ter postulado que a dis-
pepsia funcional no seria seno um sub-tipo de clon irritvel, aceita-se actualmen-
te que se trata de duas entidades distintas, com base na anlise dos sintomas e nas
diferenas nos registos da motilidade intestinal.
Relativamente aos trs tipos de dispepsia funcional aceites no consenso de Roma,
questiona-se muito a sua utilidade na rotina clnica. De facto, e em primeiro lugar,
existe considervel sobreposio em termos de sintomas entre os sub-tipos propos-
tos, com muitos doentes (at 50%) enquadrveis em mais do que uma categoria. Alm
disso, doentes com sintomas de dispepsia apresentam frequentemente sintomas com-
patveis com outras entidades, especialmente a sindrome do clon irritvel. Em segun-
do lugar, a patognese dos sintomas disppticos multifactorial. Uma anomalia numa
simples funo pode originar mltiplos sintomas, e os vrios sub-tipos considerados
no evidenciam em geral uma correlao estreita com a patofisiologia subjacente. Em
terceiro lugar, os vrios complexos sintomticos dos sub-grupos propostos, no
podem ser diferenciados com base em caractersticas fisiolgicas prprias ou na res-
posta a agentes teraputicos.
C. Poder Disceiminativo da Histria Clnica
essencial obter uma histria clnica apurada no doente dispptico, no sentido de
tentar encontrar dados que propiciem uma orientao quanto abordagem diagns-
tica e teraputica de cada caso.
Os aspectos especficos da histria clinica de maior relevncia para a prossecuo
desse objectivo, so os seguintes:
- Presena de sintomas de alarme:
Anemia ou outra evidncia de hemorragia (taquicardia, hipotenso, sangue
nas fezes)
Dor severa ou persistente
Odinofagia
Disfagia
Vmitos persistentes ou recorrentes
Anorexia
Perda de peso
- Primeira apresentao de dispepsia ou de alteraes de sintomas em doentes
com idade superior a 40 anos
Doenas do Aparelho Digestivo
160
- Histria prvia de lcera pptica
- Ulcera pptica actual ou evidncia recente de hemorragia digestiva (hemateme-
ses ou melenas)
- Consumo de AINEs e de aspirina
- ? Outros factores de risco:
Consumo pesado de tabaco
Abuso de lcool
- Histria familiar de lcera pptica ou de cancro gstrico
- No exame fsico, achados de: hepatomeglia, esplenomeglia, massa abdominal,
linfadenopatia, sinais de anemia ou ictercia, sopro abdominal.
A existncia, na histria clnica, de um ou mais destes achados, implica a obrigao
de prosseguir o estudo do doente, nomeadamente com exame endoscpico, no sen-
tido de identificar a causa da dispepsia.
4. PATOFISIOLOGIA DA DISPEPSIA FUNCIONAL
No momento actual, postula-se que a causa da dispepsia funcional multifactorial. As
principais hipteses etiopatognicas ou fisiopatolgicas encontram-se indicadas no
quadro seguinte:
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
161
Fisiologia gstrica Secreo cida
Disfuno motora Esvaziamento gstrico
Nocicepo Percepo visceral da distenso
Disfuno do SNC Sensibilidade serotonina
Psicolgica Stress, conflito, agresso
Factores ambientais H. pylori, tabagismo
A. Secreo cida Gstrica
Vrios estudos examinaram a secreo cida em doentes com dispepsia funcional.
Alguns autores no encontraram diferenas entre os dbitos basal e pos-pentagastri-
na, em doentes disppticos v. controlos. El-Omar et al (1995) verificaram que o dbi-
to cido dos doentes com dispepsia funcional se aproximava do resgistado em doen-
tes com lcera duodenal, e se afastava do apurado no grupo de controlo, aps esti-
mulao da secreo cida com um peptdeo libertador de gastrina (GRP).
Analisando os estudos que procuraram examinar os efeitos da medicao anti-secre-
tora nos sintomas da dispepsia funcional, constata-se que os anticidos no so
superiores ao placebo, enquanto que os inibidores H2 e sobretudo os inibidores da
CAUSAS DA DISPEPSIA FUNCIONAL
bomba de protes so eficazes num sub-grupo de doentes. Essa eficcia traduz-se
numa vantagem sobre o placebo de, pelo menos, 20%.
Os estudos que procuraram analisar a sensibilidade da mucosa duodenal ao cido,
mediante a sua instilao local, revelam que existe um sub-grupo de doentes que so
anormalmente sensveis ao cido clordrico.
B. Disfuno Motora
Estudos manomtricos revelaram a existncia de hipomotilidade antral, interdigestiva
e/ou ps-prandial, em doentes com dispepsia funcional, em percentagens que chega-
ram a atingir os 50%. Estudos manomtricos recentes antro-jejunais, evidenciaram
anomalias motoras nos perodos interdigestivo (71%) e ps-prandial (78%).
Anomalias da actividade mioelctrica antral tm sido associadas a nuseas, e a outros
sintomas disppticos. A regularizao dessa actividade mioelctrica acompanha-se,
nalguns estudos, de melhoria do quadro sintomtico.
Em 30-80% dos doentes com dispepsia funcional, vrios trabalhos evidenciam a exis-
tncia de atraso no esvaziamento gstrico de alimentos slidos, atraso menos marca-
do no esvaziamento de lquidos.
Estudos recentes evidenciaram uma distribuio anmala dos contedos gstricos em
disppticos funcionais, caracterizada por esvaziamento rpido do estmago proximal
e uma sbita e prolongada distenso no antro. Um outro trabalho evidenciou a exis-
tncia de um tnus gstrico proximal extremamente elevado aps as refeies. O defi-
ciente relaxamento gstrico ps-prandial seria causa de saciedade precoce no doente
dispptico.
Apesar da elevada prevalncia de anomalias motoras gastrointestinais detectadas na
maioria dos estudos, ainda no foi estabelecida uma relao convincente entre esses
distrbios e os sintomas disppticos.
Est ainda por esclarecer a relao entre as perturbaes motoras que tm sido iden-
tificadas, o sistema nervoso central, a hipersensibilidade visceral e a infeco pelo
Helicobacter pylori.
No quadro seguinte, resumem-se os dados a favor e contra uma relao entre a dis-
motilidade gastrointestinal e os sintomas da dispepsia funcional.
Doenas do Aparelho Digestivo
162
C. Hipersensibilidade Visceral
Existe evidncia de alteraes na percepo de estmulos viscerais no doente com dis-
pepsia funcional.
Vrios estudos revelaram que estes doentes evidenciam uma hipersensibilidade dis-
tenso gstrica, muito superior detectada em voluntrios normais. Os estudos que
utilizaram a distenso com balo, revelaram uma sensibilidade de 87% e uma espe-
cificidade de 80% (Mertz et al, 1998), comparando doentes disppticos com controlos
normais.
Em face destes achados, concluiu-se que ocorria no doente dispptico uma alterao
da percepo visceral distenso intragstrica, que estaria relacionada com os sinto-
mas.
Outros estudos tm analisado o eventual papel desempenhado pela inervao vagal
e pela composio dos alimentos na sensibilidade gastroduodenal. Concluiu-se que
os sintomas da dispepsia funcional poderiam resultar da estimulao de aferentes
mecanosensitivos gastro-medulares (originando dor), e/ou da estimulao de aferen-
tes vagais duodenais quimiosensveis (originando saciedade precoce, enfartamento e
nusea).
Tambm se postula que a presena de cido no esfago ou no duodeno, pode con-
tribuir para os sintomas da dispepsia funcional, no contexto de um aumento da per-
cepo a estmulos qumicos que caracterizaria estes doentes.
No se encontra ainda clarificada a eventual relao entre a gastrite por Helicobacter
pylori e os mecanismos de hipersensibilidade visceral. Alguns dados recentes defen-
dem uma possvel relao entre esses factores.
Existe evidncia de alteraes da funo vagal na dispepsia funcional, designadamen-
te uma reduo do polipeptdeo pancretico aps as refeies, um deficiente relaxa-
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
163
Os padres mioelctricos contrcteis e de
trnsito so:
Invariavelmente anormais na DF (em
mdia)
Geralmente normais em sindromes
do intestino baixo
Geralmente normais em doentes com
distrbios da personalidade
ASSOCIAO ENTRE DISMOTILIDADE GASTROINTESTINAL E DISPEPSIA FUNCIONAL (DF)
A FAVOR CONTRA
Os padres mioelctricos contrcteis e de
trnsito so:
Nunca anormais em todos os
doentes com DF
No necessariamente temporalmente
ligados a sintomas
Caracterizados por muito baixa
especificidade
mento gstrico distenso duodenal, e uma diminuio do reflexo de inibio intes-
tinal em resposta distenso com balo. Alm disso, reportou-se a existncia de des-
nervao parasimptica idioptica em doentes com dispepsia funcional. Esta disfun-
o autonmica poderia induzir distrbios da funo motora gastrointestinal secund-
rios a perda do controlo neural eferente, ou respostas exageradas a estmulos tais
como distenso intraluminal por hipersensibilidade resultante da desnerao vagal.
luz dos dados que tm sido referidos, propem alguns autores um modelo multidi-
mensional na patognese da dispepsia funcional. Nessa formulao patofisiolgica,
jogariam um papel importante as alteraes na regulao autonmica (via vagal) do
tracto digestivo alto, as alteraes na percepo das sensaes viscerais e possveis
alteraes centrais na resposta geral ao stress. A diminuio do influxo vagal pode-
ria justificar o atraso no esvaziamento gstrico e a hipomotilidade antral, o aumento
da percepo de eventos viscerais seria secundrio a hipersensibilidade vagal ou espi-
nal e responsvel por muitos dos sintomas caractersticos da dispepsia funcional, e
finalmente, as alteraes na resposta central ao stress explicariam a comum modula-
o dos sintomas por eventos marcantes da vida.
D. Factor Psicolgico
Vrios estudos tm evidenciado que factores psico-sociais esto fortemente correla-
cionados com a persistncia de dispepsia funcional. No ainda claro se esses fac-
tores so etiolgicos, ou expresso de comorbilidade.
Talley et al (1986) demonstraram que, em comparao com controlos da comunidade,
os doentes com dispepsia funcional apresentavam ndices mais elevados de neuroti-
cismo (hiperreactividade emocional e labilidade), ansiedade e depresso, embora no
pudessem concluir pela existncia de uma relao causal entre factores emocionais e
sintomas disppticos. Outros trabalhos suportam estas observaes de Talley et al.
Vrios estudos evidenciaram que os doentes com dispepsia funcional, em compara-
o com controlos normais, experimentaram eventos na vida mais traumticos. Dentre
esses eventos, destaca-se o estudo sobre a relao entre abusos fsicos, emocionais
ou sexuais, e o desenvolvimento de sintomas funcionais gastrointestinais. Por outro
lado, eventos traumticos poderiam induzir, secundariamente, problemas de alcoolis-
mo ou distrbios alimentares (por ex. bulimia nervosa), que condicionariam o apare-
cimento de quadros disppticos.
Estes dados acumulados devem suscitar reflexo quando se perspectiva a estratgia
teraputica do dispptico funcional.
E. Helicobater Pylori
muito controversa a relao entre a infeco por H. pylori e o desenvolvimento de
quadros de dispepsia funcional. No sentido de apurar uma eventual relao de cau-
Doenas do Aparelho Digestivo
164
salidade, tem sido estudada esta importante temtica luz de estudos de base pato-
fisiolgica, epidemiolgica, semiolgica e teraputica.
(1) Patofisiologia
Uma imensido de trabalhos publicados tem analisado a relao entre a infeco Hp
e os sintomas da dispepsia funcional. Extrado de uma publicao de Pantoflickova et
al, explicitam-se, no grfico seguinte, os mecanismos postulados dessa relao:
Qual o grau de validade, em termos de evidncia cientfica, dos mecanismos postula-
dos neste grfico ? Os autores acima citados, do a seguinte resposta:
(2) Epidemiologia e semiologia
Mltiplos trabalhos procuraram analisar a prevalncia da infeco Hp na dispepsia
funcional e estudar a hiptese de esta infeco poder induzir sintomas especficos ou
quadros sindrmicos prprios.
Percepo
visceral
Sintomas
disppticos
H. Pylori
Inflamao
Secreo cida
alterada
Dismotilidade
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
165
Continuando a invocar a magnfica anlise elaborada por Pantoflickova et al sobre
esta perspectiva, as respostas a esses quesitos seriam as seguintes:
(3)Resposta teraputica
Se existisse evidncia de eliminao ou melhoria do quadro sintomtico de dispepsia
funcional aps teraputica de erradicao da infeco por H. pylori, seria um argumen-
to muito forte a favor de uma relao causal entre este agente bacteriano e a dispep-
sia funcional.
Doenas do Aparelho Digestivo
166
A infeco Hp induz inflamao? Sim
A inflamao origina sintomas? Provavelmente no
A infeco Hp induz dismotilidade? Possvel
Essa dismotilidade induz sintomas? Provavelmente no
A inflamao provoca dismotilidade? Possvel
Esse distrbio motor causa sintomas? Possvel
A infeco Hp altera a secreo cida? Sim
Esse evento produz sintomas disppticos? Provavelmente no
A inflamao pode alterar a secreo gstrica? Provavelmente sim
Esse evento produz sintomas disppticos? Provavelmente no
A infeco Hp induz hipersensibilidade visceral? Provavelmente no
A infeco Hp induz sintomas por essa via? Provavelmente no
A inflamao aumenta a percepo visceral? Provavelmente sim
Esse evento causa sintomas disppticos? Provavelmente no
HIPTESE PATOFISIOLGICA VALIDAO
A infeco aguda Hp origina sintomas disppticos? Sim
A prevalncia da infeco Hp elevada na dispepsia Provavelmente no
funcional ?
A dispepsia funcional crnica precedida de infeco Hp? Provavelmente no
A infeco Hp produz sintomas especficos ? Provavelmente no
A infeco Hp produz quadros sintomticos especficos? Provavelmente no
HIPTESE PATOFISIOLGICA VALIDAO
H imensos trabalhos que procuraram responder a este quesito. Infelizmente, muitos
desses trabalhos tm lacunas graves, que viciam as concluses.
importante analisar os resultados de dois grandes ensaios teraputicos multicntri-
cos com controlo por placebo. Um deles, denominado OCAY (Omeprazole +
Claritromicina + Amoxicilina, com avaliao dos efeitos ao cabo de 1 ano), incorporou
328 doentes e foi conduzido por Blum (1998). No se apurou diferena no tocante
melhoria clnica entre os dois grupos em cotejo (27.4% para o grupo submetido a
erradicao versus 20.7% para o grupo controlo). O segundo ensaio, liderado por
Talley (1999), denominado ORCHID, englobou 237 doentes com dispepsia funcional,
submetidos a teraputica de erradicao do Hp ou a tratamento com placebo. A reso-
luo completa dos sintomas ocorreu em 24% no primeiro grupo, e 22% no grupo
placebo.
Num outro ensaio conduzido por McColl (1998), em Glasgow, que integrou 308 doen-
tes com dispepsia funcional, e que teve tambm a durao de 12 meses, apurou-se
uma diferena significativa na resoluo dos sintomas entre o grupo tratado e o grupo
placebo (21% v. 7%).
Os resultados destes ensaios, bem desenhados e idneos, suscitam dvidas relativa-
mente ao benefcio da teraputica de erradicao do Hp na dispepsia funcional. A exis-
tir, essa eficcia s se comprova num sub-grupo de doentes com dispepsia funcional.
No momento actual, impossvel identificar quem beneficiaria com esta teraputica.
5. ABORDAGEM DO DOENTE DISPPTICO - Diagnstico e Teraputica -
A. Introduo
A abordagem diagnstica e teraputica do doente com queixas disppticas tem sus-
citado vivo debate. Num assunto to nebuloso, sem evidncias exactas que funda-
mentem uma estratgia definida, difcil identificar a melhor conduta a prosseguir.
Num cenrio to complexo, ser correcto afirmar que a metodologia a seguir depen-
de essencialmente do caso clnico em anlise e da acessibilidade a recursos tcnicos,
e acessoriamente de variveis de ordem econmica.
No entanto, no deixa de ser pertinente ter sempre presente as recomendaes e as
actualizaes emanadas de autoridades competentes ou de instncias de reconheci-
da idoneidade. Essas informaes constituem uma importante base de apoio e de sus-
tentao das opes que se entenderem mais oportunas, mas no podem ser enca-
radas como expresso exclusiva de boa prtica mdica, quando est em causa um
tema to controverso e dilemtico como a dispepsia. Acresce que recomendaes
exaradas num determinado pas, no devem ser automaticamente reproduzidas no
nosso pas, sem uma anlise judiciosa. O acatamento dogmtico de recomendaes
oriundas de outros pases constitui, em certos casos, um absurdo.
A abordagem diagnstica e teraputica da dispepsia suscita uma reflexo prvia sobre
os seguintes pontos:
(1) A dispepsia uma situao clnica muito comum, e uma frequente razo de con-
sulta no ambulatrio.
(2) A dispepsia pode ter vrios efeitos adversos. Em primeiro lugar, origina sinto-
mas que podem atingir grande intensidade e incapacidade, provocando muitas
vezes quadros de ansiedade quanto sua causa, tendo por isso um impacto
deletrio na qualidade de vida do doente. Em segundo lugar, confronta o cl-
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
167
nico com decises difceis, no plano do diagnstico e da teraputica. E em ter-
ceiro lugar, tem custos econmicos elevados, directos e indirectos.
(3) A dispepsia funcional uma entidade muito frequente, compreendendo pelo
menos 50% dos casos de dispepsia.
(4) Os sintomas da dispepsia no discriminam no tocante sua origem orgnica
ou funcional, e no que respeita s mltiplas causas da dispepsia orgnica.
(5) ainda desconhecida a causa da dispepsia funcional, apesar das vrias hip-
teses postuladas. No momento actual, deve ser considerada uma entidade de
origem multifactorial, pelo que no tem um tratamento nico.
B. Estratgia Inicial
Quando confrontado com um doente dispptico, que consulta pela primeira vez, a
preocupao inicial do clnico a de procurar identificar a origem orgnica ou funcio-
nal da dispepsia.
H muitas vezes dados na histria clnica de grande utilidade nessa distino. Alguns
deles apontam de forma incontroversa para uma dispepsia orgnica, e outros indiciam
como mais provvel essa hiptese.
Recordando o que se escreveu no captulo 3 desta exposio sobre dispepsia, ao
abordar-se o poder discriminativo da histria clnica, salientou-se que dela podemos
extrair alguns dados especficos que obrigam a um estudo aprofundado do doente,
nomeadamente recorrendo ao exame endoscpico, antes da considerao do trata-
mento. H portanto uma fraco de doentes com dispepsia, onde no h dvidas
quanto estratgia inicial a prosseguir. O quesito que a seguir se coloca, saber
como actuar quando na histria clnica no se identificam os factores que justificam
uma investigao clnica imediata. Que atitude tomar?
No quadro seguinte, procuramos consubstanciar o raciocnio clnico que envolve esta
estratgia inicial:
Doenas do Aparelho Digestivo
168
D. Estratgia na Dispepsia que no obriga a Investigao Imediata
Como vimos no quadro anterior, perfilam-se vrias atitudes possveis perante um
doente com dispepsia cuja histria clnica no obriga a uma investigao clnica ime-
diata, recorrendo a exames complementares. neste tpico que surgem muitas diver-
gncias de opinio, uma vez que qualquer das atitudes propugnadas tem vantagens
e inconvenientes.
A deciso de seleccionar uma teraputica emprica, ou detectar a infeco Hp, ou soli-
citar um exame endoscpico inicial, deve basear-se no s em aspectos econmicos,
mas tambm noutras consideraes, designadamente a atitude do doente e do mdi-
co perante a incerteza, o problema tico da no identificao de uma doena curvel,
como a lcera pptica ou o cancro, a satisfao do doente, os condicionamentos
impostos por foras institucionais ou sociais na utilizao de meios de diagnstico,
e a prevalncia das doenas num pas ou numa regio.
Histria Clnica
B A
- Presena de sintomas de alarme*
- Idade superior a 40 anos
- Histria passada de ulcera pptica
- lcera actual ou evidncia de
hemorragia digestiva
- Consumo de AINES
- ? Consumo pesado de tabaco
- ? Abuso de lcool
- Histria familiar de lcera pptica ou
cancro gstrico
- Exame fsico: hepatomeglia,
esplenomeglia, massa abdominal,
linfadenopatia, sinais de anemia ou
ictercia, sopro abdominal
- Ausncia dos achados em
Teraputica emprica ?
Testar Hp e tratar ?
Testar Hp e endoscopar os positivos ?
Endoscopia inicial e subsequente
teraputica ?
A
Exames complementares **
*Ver captulo 3 Clnica. C. poder discriminado da histria clnica
** Exame endoscpico obrigatrio e outros estudos pertinentes: bioqumica, US, pH-metria, etc.
DOENTE COM DISPEPSIA QUE CONSULTA
PELA PRIMEIRA VEZ OU AINDA NO INVESTIGADO
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
169
Teraputica emprica
- A teraputica emprica, utilizando frmacos anti-secretores gstricos ou procinti-
cos tem sido recomendada em certos sectores. Se no houver resposta clnica ao
cabo de 6-8 semanas, prope-se a realizao de uma endoscopia digestiva alta.
- Esta proposta tem sido criticada por vrias razes: promove a utilizao prolon-
gada e inapropriada de frmacos; enfraquece o valor das investigaes subse-
quentes; mascara os sintomas de lceras malignas; pode induzir efeitos colate-
rais; no diminui os custos, uma vez que a recorrncia sintomtica frequente
acaba por solicitar o exame endoscpico; a lcera pptica eventualmente exis-
tente ser inadequadamente tratada com esta estratgia; no so reconhecidas
doenas srias como o cancro gstrico e o linfoma, o esfago de Barrett e as
manifestaes atpicas da DRGE.
Testar o Hp e tratar
a. Vantagens
- O H. pylori tem um papel importante na patognese da lcera pptica. Nos doen-
tes com dispepsia crnica com teste positivo para o Hp, a possibilidade de pade-
cerem de lcera pptica situa-se entre 25-50%. Pelo contrrio, nos doentes com
teste negativo, seriam muito menores as hipteses de sofrerem de lcera.
- Nos doentes com lcera pptica confirmada, a erradicao da bactria promove
a cicatrizao, reduz o risco de recorrncia ulcerosa e resolve os sintomas dis-
ppticos numa certa percentagem de casos
- Por outro lado, a erradicao do Hp em doentes com dispepsia funcional, pode
ter efeitos benficos, prevenindo a progresso para a ditese ulcerosa pptica,
suprimindo o linfoma MALT e reduzindo o risco de cancro gstrico.
b. Desvantagens
- A teraputica de erradicao do Hp s alivia os sintomas de dispepsia funcional
em cerca de 20% dos doentes. No h evidncia de melhoria dos sintomas com
esta teraputica em doentes com DRGE, por vezes clinicamente confundida com
dispepsia funcional.
- Esta estratgia resulta portanto no tratamento de uma grande populao de
doentes Hp-positivos que no necessitam ou no colhem benefcio desse trata-
mento. De facto, como muito bem salienta Blum et al, a teraputica de erradica-
o do Hp na dispepsia funcional, administrada menos para tratar os sintomas
desta situao, e mais para prevenir doenas orgnicas como a lcera pptica e
o cancro. Alm disso, nem todos concordam com a citao de Graham (1997)
only a dead H. pylori is a good H. pylori. A teraputica de erradicao do Hp
nem sempre favorvel. Alm do custo da medicao e dos seus eventuais efei-
tos secundrios, admite-se que possa induzir ou agravar quadros de esofagite de
refluxo. Por isso Fennerty (1999) contrape citao de Graham, estoutra: save
the H. pylori.
- Os actuais testes serolgicos do Hp tm taxas de falsos negativos de 5-15%, pelo
Doenas do Aparelho Digestivo
170
que doentes que necessitariam da teraputica de erradicao, acabam por no a
fazer.
- Os testes mais baratos, realizados no prprio consultrio, podem dar falsos posi-
tivos, pelo que se promove a erradicao em doentes Hp-negativos.
- O teste respiratrio da ureia, o melhor teste no invasivo, bastante dispendio-
so. Em Portugal, tendo em conta as actuais tabelas oficiais para o exame endos-
cpico no ambulatrio, o teste respiratrio cerca de duas vezes mais caro.
Tendo em conta que a estratgia testar, tratar exige a realizao de dois tes-
tes, um no rastreio inicial e outro para confirmao da erradicao do Hp aps
teraputica, um absurdo econmico incluir nesta estratgia dois testes respira-
trios da ureia.
- Comea a haver uma utilizao crescente de regimes de erradicao do Hp inefi-
cazes ou inapropriados, de que resulta uma baixa taxa de erradicao e um
aumento de resistncia bacterianas.
- A eficcia dos regimes de erradicao do Hp pode ser limitada por problemas de
tolerncia e frequncia de administrao, de que resulta uma fraca compliance
do doente. Embora sejam raros os eventos adversos srios (0.1 0.5%), a diar-
reia, reaces alrgicas e nuseas ocorrem em 30-50% dos doentes.
- Seguindo a estratgia do testar-tratar, os doentes Hp-negativos com lcera pp-
tica (por ex. por AINEs) ou com esofagite de refluxo, no so devidamente tra-
tados. Alis, dados recentes confirmam um aumento crescente da lcera pptica
Hp-negativa.
- Finalmente, uma outra desvantagem, consiste no facto de poderem ser inadequa-
damente tratadas doenas muito srias, como o adenocarcinoma gstrico ou o
linfoma, ou as manifestaes atpicas da esofagite.
Testar e endoscopar os Hp-positivos
a. Vantagens
- Um argumento em favor desta estratgia de testar e realizar exame endoscpico
nos Hp-positivos, que restringe o uso dos regimes de erradicao do Hp a
doentes com reconhecida indicao para tratamento, isto , os 25-50% de doen-
tes Hp-positivos em que a subsequente endoscopia revela uma lcera pptica.
- Alm disso, esta estratgia possibilita a bipsia endoscpica, possibilitando o
diagnstico do Barrett, do carcinoma e do linfoma.
- Finalmente, defendem alguns proponentes desta estratgia que esta propicia
benefcios econmicos, uma vez que se reduz o peso dos exames endoscpicos,
em comparao com a atitude de privilegiar a utilizao rotineira da endoscopia.
b. Desvantagens
- Esta opo foi considerada muito dispendiosa em vrios pases.
- Em doentes Hp-negativos, a esofagite e as leses induzidas por AINEs no so
identificadas.
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
171
- Por outro lado, os falsos-negativos que ocorrem determinam que doentes Hp-
positivos no sejam investigados e tratados apropriadamente.
Endoscopia inicial
a. Vantagens
- Como j referimos, a endoscopia um exame obrigatrio nas situaes dispp-
ticas que atrs mencionamos. um mtodo de elevada acuidade diagnstica, jus-
tamente considerado o gold standard no diagnostico da dispepsia. H autores
e centros de referncia, que defendem a sua utilizao em todos os casos de dis-
pepsia, facultando desde logo uma informao valiosa ao clnico.
- De facto, uma das principais vantagens do exame endoscpico reside no facto
de possibilitar um diagnstico definitivo da dispepsia funcional, excluindo cau-
sas orgnicas como a DRGE erosiva, a ditese ulcerosa pptica e as neoplasias
gstricas.
- Uma outra importante vantagem a possibilidade de detectar complicaes da
DRGE, designadamente o Barrett, e de estadiar as leses de esofagite de refluxo
com vista a teraputica adequada.
- Por outro lado, no podemos esquecer o benefcio indiscutvel do exame na esfe-
ra psicolgica do doente, e mesmo do clnico assistente, como vrios estudos
realizados j comprovaram, ao apurarem uma significativa reduo nos quadros
de ansiedade. Alm disso, e em termos econmicos, o exame endoscpico tem
consequncias positivas: menor consumo de frmacos, diminuio no nmero de
consultas mdicas e reduo do absentismo laboral.
- A endoscopia permite, ainda, a obteno de bipsias para estudo histolgico e
para a deteco da infeco pelo H. pylori.
b. Desvantagens
- Trata-se de um exame invasivo, desconfortvel, com escassos riscos.
- Em certos pases, onde no existe um open access, h dificuldades de acessi-
bilidade, eventualmente com listas de espera.
- Tambm em certos pases, o exame endoscpico dispendioso, circunstncia
que no favorece esta estratgia, por razes econmicas.
Que estratgia perfilhar ?
Compete ao clnico avisado ponderar judiciosamente sobre a melhor estratgia a
seguir perante um doente com queixas disppticas.
No momento presente, todas as opes que tm sido propostas apresentam vanta-
gens e inconvenientes. A seleco da estratgia mais adequada depende essencial-
mente da histria clnica do doente.
Doenas do Aparelho Digestivo
172
importante sublinhar, entretanto, que devem ser ponderados alguns aspectos rela-
cionados com a realidade nacional, que podem influenciar a deciso:
a) Em Portugal, o exame endoscpico barato e acessvel. Existe actualmente uma
excelente cobertura em todo o territrio nacional.
b) Em Portugal elevada a taxa de prevalncia do cancro do estmago.
c) Em Portugal muito elevada a prevalncia da infeco pelo H. pylori no adul-
to. Nestas condies, diminui o valor preditivo de um teste serolgico negativo,
isto , aumenta o nmero de falsos negativos.
d) Sendo essa prevalncia to elevada, so legtimas as reservas que se podem
suscitar, no plano econmico, adopo da estratgia testar, tratar. De facto,
esta estratgia pressupe a realizao de um teste de rastreio inicial (usualmen-
te serolgico), mas obriga tambm a um teste ps-teraputica, para certificao
da erradicao do Hp (se assim no for, essa estratgia cientificamente incor-
recta). Ora o gold standard para confirmar a erradicao do Hp, o teste res-
piratrio da ureia. O custo desta estratgia, se fosse generalizada a todos os
doentes disppticos que dispensam uma abordagem diagnstica inicial agressi-
va, seria proibitivo.
e) Esta estratgia s alcana resultados satisfatrios, em termos de eliminao dos
sintomas, numa pequena fraco de disppticos funcionais.
Tendo em conta estes considerandos, plenamente justificada a escolha da opo
Endoscopia inicial na abordagem do doente dispptico. Confere segurana ao mdi-
co e ao doente, e em Portugal uma estratgia correcta em termos econmicos. Trata-
se de uma recomendao que se nos afigura legtima, embora no dogmtica. No
plano individual aceitam-se, bviamente, outras alternativas, em funo do caso cl-
nico.
Realizado o exame endoscpico, e definida a existncia de um quadro de dispepsia
funcional, que atitude teraputica seleccionar ? o que vamos examinar no captulo
seguinte.
D. TRATAMENTO DA DISPEPSIA FUNCIONAL
Como vimos no captulo da fisiopatologia da dispepsia funcional, esta entidade no
tem uma etiologia identificada. Ser causada, segundo se pensa no momento actual,
pela conjugao de vrios factores que intervm de uma forma mais ou menos mar-
cada.
Antes de uma prescrio farmacolgica, importante que o clinico assistente procu-
re explicar ao doente as caractersticas peculiares das suas queixas, e as limitaes
da teraputica actualmente disponvel.
importante tambm avaliar se existem factores psicolgicos em jogo, e aconselhar
a eliminao de factores potencialmente precipitantes (AINEs, digoxina, macrlidos,
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
173
Cisapride Procintico
Metaclopramida Procintico
Domperidona Procintico
Anticidos Neutralizao do HCl
Inibidores H2 Inibio cida
Inibidores da bomba de protes Inibio cida
Antibiticos Erradicao do H. pylori
Antidepressivos Aco central
Sucralfato Proteco da mucosa
Fedotozina Analgesia visceral
Antagonista 5-HT
3
Analgesia visceral
alendronato, abuso de tabaco e de lcool, e dietas gordurosas).
ainda essencial assegurar se as queixas do doente so de facto provenientes de um
quadro de dispepsia funcional, ou se decorrem mais de um clon irritvel ou de uma
doena do refluxo gastro-esofgico. No infrequentemente h coexistncia destas enti-
dades.
Relativamente teraputica farmacolgica da dispepsia funcional, h um nmero avul-
tado de medicamentos que tm sido objecto de ensaios clnicos, e que se referem no
quadro seguinte:
COMENTRIOS
Anticidos
- Nos ensaios teraputicos realizados, no evidenciaram benefcio em comparao
Doenas do Aparelho Digestivo
174
FRMACO MECANISMO
com placebo.
- No entanto, porque so incuos, podem ser prescritos nos doentes que referem
alvio dos sintomas com a sua utilizao.
Inibidores H2
- Tm sido muito utilizados na dispepsia funcional. Analisando os resultados glo-
bais dos mltiplos ensaios realizados, obtiveram-se resultados satisfatrios entre
35-80%, contra 20-60% do placebo.
Inibidores da bomba de protes
- H menos ensaios teraputicos com estes agentes, como bvio. Num deles,
realizado por Talley et al (1998), apurou-se uma melhoria sintomtica em 40%
dos doentes, em comparao com 27% no grupo placebo.
FRMACOS UTILIZADOS EM ENSAIOS TERAPUTICOS NA DISPEPSIA FUNCIONAL
- H evidncia de uma maior eficcia na dispepsia funcional tipo lcera.
- A sua utilizao na dispepsia funcional tem sido crescentemente recomendada.
Agentes procinticos
- Tm sido recomendados porque se admite que um sub-grupo de disppticos fun-
cionais evidencia distrbios da motilidade, nomeadamente atraso no esvazia-
mento gstrico.
- A metoclopramida bloqueia os receptores dopaminrgicos e possui tambm uma
actividade antagonista dos receptores 5-HT3. Trs estudos controlados evidencia-
ram que era superior ao placebo na eliminao das nuseas e da dor epigstri-
ca. Tem efeitos colaterais no sistema nervoso central. A domperidona, que tam-
bm bloqueia os receptores dopaminrgicos, teria uma aco no inferior da
metaclopramida.
- O cisapride um frmaco procintico que actua provavelmente por ser um ago-
nista dos receptores 5-HT4 e por induzir indirectamente a libertao de acetilco-
lina no plexo mientrico. Vrios ensaios revelaram a sua utilidade na dispepsia
funcional, quando comparado com placebo. Pode induzir efeitos secundrios
srios, a nvel cardaco, pelo que tem sido abandonado no mbito da teraputi-
ca da dispepsia funcional.
- A buspirona, um agonista 5-HT1, tem eficcia no relaxamento do fundo gstrico,
sendo actualmente objecto de vrios ensaios. Outros frmacos que esto a ser
estudados, porque afectam a motilidade gstrica: eritromicina, loxiglumide (anta-
gonista dos receptores do CCK), tegaserod (agonista 5-HT4).
Analgsicos viscerais
- Postula-se actualmente a existncia de hipersensibilidade visceral no doente com
dispepsia funcional. Consequentemente, os analgsicos viscerais poderiam aliviar
os sintomas disppticos ao amortecerem a percepo dos estmulos aferentes
provenientes do estmago e duodeno.
- A fedotozina, um agonista dos receptores perifricos K localizados nos neurnios
aferentes da parede intestinal, foi avaliada em dois ensaios. Os resultados obti-
dos foram superiores aos do grupo placebo. O ondansetron, um inibidor dos
receptores 5-HT3, teria igualmente uma aco benfica na dispepsia funcional.
Erradicao do H. pylori
- Como j foi sublinhado, h controvrsia relativamente ao efeito benfico da erra-
dicao do H. pylori no controlo dos sintomas da dispepsia funcional. Nalguns
ensaios no se apurou benefcio, enquanto que outros evidenciaram que a tera-
putica de erradicao foi til num segmento de doentes com dispepsia funcio-
nal.
- Apesar de no existir uma evidncia cientfica cabal quanto ao beneficio da tera-
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
175
putica de erradicao na dispepsia funcional, alguns autores defendem essa
possibilidade teraputica, tendo em conta, sobretudo, que a erradicao do Hp
poderia eventualmente prevenir o desenvolvimento de lcera pptica numa
pequena fraco de doentes disppticos (at 15%).
Outros frmacos
- O sucralfato, o bismuto e o misoprostil, foram ensaiados na dispepsia funcional,
com resultados pouco convincentes.
- Segundo alguns trabalhos, os antidepressivos poderiam ser teis nalguns doen-
tes com problemas na esfera psicolgica.
Tendo em conta os resultados dos ensaios teraputicos at agora realizados e as
potencialidades dos frmacos actualmente disponveis, propomos a seguinte atitude
teraputica:
Doenas do Aparelho Digestivo
176
Tipo lcera Tipo dismotilidade
Medidas gerais
+
Inibio cida (IBP*)
(4 - 6 semanas)
Medidas gerais
+
Procintico + IBP*
(4 - 6 semanas)
Dispepsia funcional
Insucesso Insucesso
Insucesso
Testar e tratar infeco Hp
xito
Suspender frmacos
Associar:
Procintico
+
ev. psicofrmaco
Associar:
Psicofrmaco
* IBP - inibidor da bomba de protes
ESTMAGO E DUODENO - Dispepsia
177
REFERNCIAS
Heatley V, Moncur O (Eds). Dyspepsia. The Clinical Consequences. Blakwell Science 2000.
Van Zanten V. Functional dyspepsia: diagnosis and treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B (Eds). Evidence based gastroenterolo-
gy and hepatology. BMJ Books, 1999:140-150
Rome II: a multinational consensus document on functional gastrointestinal disorders. Gut 1999;45 (Suppl.11).
Locke III GR. Prevalence, incidence and natural hystory of dyspepsia and functional dyspepsia. Baillieres Clin Gastrenterol 1998;12(3):435-42.
Kellow JE. Organic causes of dyspepsia, and discriminating functional from organic dyspepsia. Baillieres Clin Gastrenterol 1998;12(3):477-88.
Pantoflickova D, Blum AL, Koelz HR. Helicobacter pylori and functional dyspepsia: a real causal link? Baillieres Clin Gastrenterol
1998;12(3):503-532.
Stanghellini V, Corinaldesi R, Tosetti M. Relevance of gastrointestinal motor disturbances in functional dyspepsia. Baillieres Clin Gastrenterol
1998;12(3):534-44.
Schmulson MJ, Mayer EA. Gastrointestinal sensory abnormalities in functional dyspepsia?. Baillieres Clin Gastrenterol 1998;12(3):545-556.
Olden W. Are psychosocial factors of aetiological importance in functional dyspepsia. Baillieres Clin Gastrenterol 1998;12(3):557-572.
Veldhuyzen van Zanten JO. Treatment of functional dyspepsia. Baillieres Clin Gastrenterol 1998;12(3):573-586.
Tytgat GNJ, Castell DO (Eds). The hidden challenge of dyspepsia and heartburn: is the world united? Europ. J. Gastroenterol & Hepat
1999;11(supp 1).
Freitas D. Dispepsia gstrica funcional. Estudo clinico-laboratorial. Rev. Gastrenterol 1985; III (supl/N 7 ):5-24.
Romozinho JM, Pina Cabral JE. Dispepsia no ulcerosa. Pathos 1993; N 100:7-66
Froehlich F, Gouvers JJ, Wietlisbach V et al. Helicobacter pylori eradication treatment does not benefit patients with nonulcer dyspepsia. Am
J Gastroenterol 2001;96(8):2329-37.
Veldhuyzen van Zanten SJO. The role of treatment with proton pump inhibitors and anti-Helicobacter therapy in functional dyspepsia. Am J
Gastroenterol 2001;96(10):2811-12.
Holtman G, Talley NJ (Eds). Managing Dyspepsia. Life Science Communications, 2000.
AGA technical review: evaluation of Dyspepsia. Gastroenterology 1998;114:582-595.
Logan R, Delaney B. ABC of the upper gastrointestinal tract: implications of dyspepsia for the NHS. BMJ. 2001 Sep 22;323(7314):675-7.
Stanghellini V, Barbara G, de Giorgio R, et al. Review article: Helicobacter pylori, mucosal inflammation and symptom perception--new insights
into an old hypothesis. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:28-32.
Malagelada JR. Review article: the continuing dilemma of dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:6-9.
Chelimsky G, Czinn SJ. Techniques for the evaluation of dyspepsia in children. J Clin Gastroenterol. 2001 Jul;33(1):11-3.
Bytzer P, Talley NJ. Current indications for acid suppressants in dyspepsia. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Jun;15(3):385-400.
Smucny J. Evaluation of the patient with dyspepsia. J Fam Pract. 2001 Jun;50(6):538-43.
Koloski NA, Talley NJ, Boyce PM. Predictors of health care seeking for irritable bowel syndrome and nonulcer dyspepsia: a critical review of
the literature on symptom and psychosocial factors. Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1340-9.
Bytzer P, Talley NJ. Dyspepsia. Ann Intern Med. 2001 May 1;134(9 Pt 2):815-22.
Talley NJ. Therapeutic options in nonulcer dyspepsia. J Clin Gastroenterol. 2001 Apr;32(4):286-93.
Mc Namara DA, Buckley M, O'Morain CA. Nonulcer dyspepsia. Current concepts and management. Gastroenterol Clin North Am. 2000
Dec;29(4):807-18.
Hawkey CJ, Lanas AI. Doubt and certainty about nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the year 2000: a multidisciplinary expert statement.
Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):79S-100S.
Jones J, Raud J. Nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated dyspepsia: basic mechanisms and future research. Am J Med. 2001 Jan
8;110(1A):14S-18S.
Brun J, Jones R. Nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated dyspepsia: the scale of the problem. Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):12S-13S.
Hawkey CJ. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the gastrointestinal tract: consensus and controversy. Introduction. Am J Med. 2001
Jan 8;110(1A):1S-3S.
Camilleri M, Coulie B, Tack JF. Visceral hypersensitivity: facts, speculations, and challenges. Gut. 2001 Jan;48(1):125-31.
Berstad A. Functional dyspepsia-a conceptual framework. Gut. 2000 Dec;47 Suppl 4:iv3-4; discussion iv10.
Stanghellini V, Tosetti C, Barbara G, De Giorgio R, Salvioli B, Corinaldesi R. Review article: the continuing dilemma of dyspepsia. Aliment
Pharmacol Ther. 2000 Oct;14 Suppl 3:23-30.
Tseng CC, Wolfe MM. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Med Clin North Am. 2000 Sep;84(5):1329-44.
Moayyedi P, Soo S, Deeks J, et al. Systematic review and economic evaluation of Helicobacter pylori eradication treatment for non-ulcer dys-
pepsia. Dyspepsia Review Group. BMJ. 2000 Sep 16;321(7262):659-64.
Alpers DH. Why should psychotherapy be a useful approach to management of patients with nonulcer dyspepsia? Gastroenterology. 2000
Sep;119(3):869-71.
Muller-Lissner S. Is the distinction between organic and functional disorders helpful? Dig Liver Dis. 2000 Jan-Feb;32(1):9-11.
Rubin G, Meineche-Schmidt V, Roberts A, de Wit N. The use of consensus to develop guidelines for the management of Helicobacter pylori
infection in primary care. European Society for Primary Care Gastroenterology. Fam Pract. 2000 Aug;17 Suppl 2:S21-6.
Childs S, Roberts A, Meineche-Schmidt V, et al. The management of Helicobacter pylori infection in primary care: a systematic review of the
literature. Fam Pract. 2000 Aug;17 Suppl 2:S6-11.
Meineche-Schmidt V, Rubin G, de Wit NJ. Helicobacter pylori infection: a comparative review of existing management guidelines. Fam Pract.
2000 Aug;17 Suppl 2:S2-5.
McColl K. Should non-invasive Helicobacter pylori testing replace endoscopy in investigation of dyspepsia? Helicobacter. 2000;5 Suppl 1:S11-
5; discussion S27-31.
Moayyedi P, Soo S, Deeks J, et al. Eradication of helicobacter pylori for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD002096.
Delaney BC, Innes MA, Deeks J, et al. Initial management strategies for dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD001961.
Soo S, Moayyedi P, Deeks J, et al. Pharmacological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD001960.
Danesh J, Lawrence M, Murphy M, et al. Systematic review of the epidemiological evidence on Helicobacter pylori infection and nonulcer or
uninvestigated dyspepsia. Arch Intern Med. 2000 Apr 24;160(8):1192-8.
Westbrook JI, McIntosh JH, Talley NJ. The impact of dyspepsia definition on prevalence estimates: considerations for future researchers. Scand
J Gastroenterol. 2000 Mar;35(3):227-33.
Hession PT, Malagelada J. Review article: the initial management of uninvestigated dyspepsia in younger patients-the value of symptom-gui-
ded strategies should be reconsidered. Aliment Pharmacol Ther. 2000 Apr;14(4):379-88.
Miwa H, Sato N. Functional dyspepsia and Helicobacter pylori infection: a recent consensus up to 1999. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Mar;15
Suppl:D60-5.
Xia HH, Talley NJ. Helicobacter pylori eradication in patients with non-ulcer dyspepsia. Drugs. 1999 Nov;58(5):785-92.
Molinder H, Wallander MA, Hallberg M, Bodemar G. Dyspepsia--acid or stress? A study of controversy. Abandoned by experts, finalized in cli-
nical practice? Scand J Gastroenterol. 1999 Nov;34(11):1057-64.
Froehlich F, Bochud M, Gonvers JJ, et al. 1. Appropriateness of gastroscopy: dyspepsia. Endoscopy. 1999 Oct;31(8):579-95.
Shawn MJ, Newcomer MK. Disease-specific outcomes assessment for dyspepsia. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Oct;9(4):671-84.
Gisbert JP, Pajares JM. Helicobacter pylori test-and-treat' strategy for dyspeptic patients. Scand J Gastroenterol. 1999 Jul;34(7):644-52.
Talley NJ, Stanghellini V, Heading RC, et al. Functional gastroduodenal disorders. Gut. 1999 Sep;45 Suppl 2:II37-42.
Stanghellini V, Tosetti C, De Giorgio R, et al. How should Helicobacter pylori negative patients be managed? Gut. 1999 Jul;45 Suppl 1:I32-5.
Talley NJ. How should Helicobacter pylori positive dyspeptic patients be managed? Gut. 1999 Jul;45 Suppl 1:I28-31.
Janssen HA, Muris JW, Knottnerus JA. The clinical course and prognostic determinants of non-ulcer dyspepsia: a literature review. Scand J
Gastroenterol. 1999 Jun;34(6):546-50.
Tytgat G, Hungin AP, Malfertheiner P, et al. Decision-making in dyspepsia: controversies in primary and secondary care. Eur J Gastroenterol
Hepatol. 1999 Mar;11(3):223-30.
Ofman JJ, Rabeneck L. The effectiveness of endoscopy in the management of dyspepsia: a qualitative systematic review. Am J Med. 1999
Mar;106(3):335-46.
Kalantar J, Eslick GD, Talley NJ. Chronic gastritis and nonulcer dyspepsia. Curr Top Microbiol Immunol. 1999;241:31-45.
Doenas do Aparelho Digestivo
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
179
SECO II - ESTMAGO E DUODENO
CAPTULO VIII
LCERA PPTICA
1. Definio
2. Etiologia
3. Patognese
4. Epidemiologia e Factores de Risco
5. Clnica
6. Diagnstico
7. Tratamento
lcera no complicada
lcera complicada
179
Doenas do Aparelho Digestivo
1. DEFINIO
A lcera pptica uma soluo de continuidade numa zona do tubo digestivo em con-
tacto com a secreo cloridropptica gstrica, ultrapassando em profundidade a mus-
cularis mucosae. Se essas solues de continuidade no ultrapassam esta barreira,
dizemos que existem eroses.
As zonas do tubo digestivo banhadas pelo suco gstrico incluem o extremo distal do
esfago, a cavidade gstrica, a parte alta do intestino delgado, reas deste segmen-
to do tracto digestivo que passam a estar expostas agresso cloridro-pptica aps
certos tipos de interveno cirrgica, e a mucosa dos divertculos de Meckel que con-
tm glndulas secretoras de ClH e de pepsina.
No sentido usual da expresso, a lcera pptica uma lcera crnica localizada no
estmago ou no duodeno. Tende a desenvolver-se preferencialmente em zonas de jun-
o de mucosas, designadamente na transio esofagogstrica, entre a mucosa do
corpo e do antro, ou na juno gastroduodenal.
A lcera pptica geralmente um processo crnico e recorrente.
2. ETIOLOGIA
A infeco crnica pelo Helicobacter pylori, o consumo de anti-inflamatrios no este-
rides (AINEs) e a lcera de stress, so as causas mais comuns de lcera pptica.
Como causa rara de ulcera pptica citam-se:
Hipersecreo cida
Gastrinoma
Mastocitose
Hiperplasia das clulas G do antro
Hipersecreo idioptica (Hp-negativa)
Outras infeces
Herpes silex tipo 1, citomegalovirus
Outras infeces
Obstruo duodenal (pregas congnitas, pncreas anular)
Insuficincia vascular
Radioquimioterpia
Causa idioptica
Estes factores etiolgicos, associados a factores de risco endgenos e exgenos, ori-
ginariam um processo ulcerativo por disrupo dos normais mecanismos de defesa e
de reparao da mucosa gstrica. Quebradas as linhas de defesa (barreira muco/bicar-
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
181
bonato, barreira epitelial superficial e barreira vascular), surgiriam leses epiteliais
superficiais. Estas frequentemente cicatrizam, graas a mecanismos de reparao celu-
lar. Em certas condies, no entanto, esses mecanismos de reparao so incapazes
de conter a agresso, surgindo um processo ulcerativo.
3. PATOGNESE
Neste captulo sobre a patognese da lcera pptica, vamos analisar essencialmente
os eventos patognicos e fisiopatolgicos desencadeados pelas duas grandes causas
da lcera: a infeco Hp e o consumo de AINEs.
A. Infeco pelo H.pylori
Esta infeco o principal agente etiolgico da lcera pptica. Vrios argumentos sus-
tentam esta afirmao:
(1) A histria natural da infeco Hp. Estudos longitudinais revelaram que nos
doentes com gastrite crnica por Hp desenvolveram-se processos ulcerativos
em 11% dos doentes, contra somente 1% em doentes sem evidncia de gastri-
te.
(2) Dados epidemiolgicos. Cerca de 90% dos doentes com lcera duodenal esto
infectados pelo Hp, e 70-90% dos doentes com lcera gstrica tambm se
encontram infectados por esta bactria. Na USA apurou-se um Odds racio de
3.4 na associao ente infeco Hp e lcera pptica.
(3) A evidncia mais importante que suporta uma relao causal entre a infeco
Hp e a lcera pptica, reside no facto de que a cura desta infeco altera a his-
tria natural da lcera. A recorrncia da lcera pptica aps a erradicao da
infeco Hp inferior a 10%, cifra muito inferior reportada nos doentes ulce-
rados tratados pela teraputica anti-secretora convencional, situada em torno
dos 70%.
(4) O postulado de Koch foi cabalmente satisfeito com os trabalhos pioneiros de
Hirayama et al, Takahashi et al, e Watanabe et al, que induziram processos ero-
sivos e ulcerativos gastrobulbares em animais de laboratrio infectados com
estirpes de Helicobacter pylori.
Patognese da lcera duodenal
O mecanismo patognico que determina o desenvolvimento da lcera duodenal pela
infeco Hp ainda no se encontra dilucidado.
Porque que se desenvolve a lcera duodenal? Porque um processo focal? Porque
que tende a recidivar no mesmo local? Porque que s surge anos aps a aquisi-
Doenas do Aparelho Digestivo
182
o da infeco Hp? Porque que s uma minoria dos doentes com infeco crnica
pelo Hp, desenvolvem um processo ulcerativo? So questes essenciais, ainda no
cabalmente esclarecidas.
Desde h vrios anos se reconhece a existncia de anomalias no mbito da secreo
cida em doentes com lcera duodenal:
- Dbito cido basal
- Dbito cido mximo
- Relao BAO:MAO
- Dbito cido estimulado pela gastrina libertada por peptdeos
- Inibio da secreo cida por distenso ou acidificao antral
- Estimulao da gastrina ps-prandial
- Pepsinognio A srico
Sabe-se actualmente que estas alteraes patofisiolgicas, exceptuando o aumento da
massa de clulas parietais, podem ser condicionadas pela infeco Hp.
A sequncia de eventos desencadeados por esta infeco, que culminariam na lcera
duodenal, seria a seguinte, na opinio de autores reputados:
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
183
Os eventos ocorridos nesta 1 fase, no seriam suficientes para se desenvolver um
processo ulcerativo. Um factor crtico adicional, seria a quantidade de estirpes virulen-
tas do H. pylori que colonizam o bolbo duodenal. A sequncia de eventos seria ento
a seguinte:
Infeco H. pylori
Infeco bulbar pelo H. pylori
Metaplasia gstrica do bolbo duodenal
Inibio deficiente da libertao de gastrina e da secreo cida
Gastrite Antral
Hipersecreo cida gstrica
Carga cida duodenal
PATOGNESE DA LCERA DUODENAL - 1 FASE
Doenas do Aparelho Digestivo
184
Patognese da lcera gstrica
A lcera gstrica ocorre numa mucosa enfraquecida pela infeco crnica Hp. De
facto, enquanto que na lcera duodenal predomina a gastrite antral, estando usual-
mente poupado o corpo gstrico, na lcera gstrica ocorre um processo inflamatrio
de pangastrite, com predomnio na regio do corpo gstrico.
Pensa-se actualmente que mediadores inflamatrios libertados neste processo de gas-
trite do corpo gstrico, designadamente a interleucina I (IL-), inibem a secreo
cida. A hipocloridria tpica do ulcerado gstrico, depende igualmente da progresso
do processo de gastrite crnica para fases de atrofia.
As lceras gstricas proximais (as lceras pr-pilricas esto epide-miologicamente
ligadas lcera duodenal, e associam-se a gastrite de predomnio antral com hiper-
cloridria), ocorrem mais frequentemente na zona de juno da mucosa antral com a
do corpo gstrico. nesta rea que acontecem tambm os graus mximos de atrofia
e de metaplasia intestinal.
A mucosa metaplsica e atrfica evidenciam menor capacidade de resistncia do que
a mucosa normal. De facto, difere desta em vrios aspectos: composio do muco,
produo de bicarbonato, produo local de factores epiteliais do crescimento e de
peptdeos reguladores. A diminuio destes factores afecta adversamente a regenera-
o da mucosa e exagera os efeitos da agresso.
Carga cida duodenal
+
Infeco duodenal pelo H. pylori
* ADMA - (asymmetric dimethyl arginine), um inibidor da sintase do NO (xido ntrico)
Estirpes virulentas cag A
+
Duodenite activa
lcera duodenal
Produo de
ADMA *
Estirpes cag A
-
ou
estirpes virulentas cag A
+
Supresso da
secreo de
bicarbonato
de origem bulbar
Duodenite crnica
moderada
Duodenite crnica
assintomtica
PATOGNESE DA LCERA DUODENAL - 2 FASE
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
185
Nesta zona de transio antro-corpo, as condies locais de pH podem tornar as estir-
pes do H. pylori mais virulentas, com resposta inflamatria mais severa.
Com o aumento da inflamao, da atrofia e da metaplasia na fronteira entre a muco-
sa antral e oxntica, ocorre progressivamente uma deslocao dessa zona de transi-
o no sentido proximal, custa da reduo da rea secretora, o que facilita o aumen-
to da colonizao pelo H. pylori nesta interface. Ao longo dos anos, a inflamao vai-
se estendendo no sentido proximal. Dado que esta rea a mais susceptvel ulce-
rao, lgico que ocorra uma associao entre o aumento na idade e a localizao
mais proximal das lceras gstricas.
Uma das questes essenciais na anlise da patognese da lcera duodenal e da lce-
ra gstrica, saber a razo porque determinados doentes infectados com Hp desen-
volvem quadros de gastrite de predomnio antral, com subsequente lcera duodenal,
enquanto que outros apresentam quadros inflamatrios de gastrite afectando predo-
minantemente o corpo, com subsequente desenvolvimento eventual de lcera gstri-
ca. Este quesito ainda no foi esclarecido. luz dos dados actuais, pensa-se que fac-
tores do hospedeiro, nomeadamente o dbito cido pr-infeco, e factores ambien-
tais como a dieta, seriam determinantes na definio do padro de gastrite ps-infec-
o. Tambm se postula actualmente, que os factores bacterianos, nomeadamente os
respeitantes ao gentipo do Hp, interviriam essencialmente na magnitude do risco de
desenvolvimento da lcera pptica.
B. Agresso por AINEs
Os AINEs podem induzir processos erosivos ou ulcerativos gastroduodenais fundamen-
talmente por dois mecanismos: (1) irritao tpica da mucosa e (2) supresso da sn-
tese das prostaglandinas.
(1) Irritao tpica da mucosa
A agresso tpica da aspirina foi demonstrada em 1960 por Davenport. Posteriormente
foi documentado que certos AINEs tm essa mesma propriedade.
A aco tpica destes frmacos mediada por trs mecanismos:
- Em primeiro lugar, as formas no ionizadas destas drogas tm a capacidade de
penetrao nas clulas epiteliais de superfcie, e uma vez no interior das clulas,
onde existe um meio neutro, so transformadas em formas ionizadas, que j no
podem ser expulsas. medida que o frmaco se acumula nas clulas, origina
um movimento osmtico de gua para o seu interior, que pode culminar na lise
celular.
- Em segundo lugar, alguns AINEs, tm a capacidade de acoplamento aos mecanis-
mos de fosforilizao oxidativa celular, induzindo depleco do ATP e distrbios
no funcionamento das clulas.
Doenas do Aparelho Digestivo
186
- Um terceiro mecanismo que pode contribuir para a irritao tpica da mucosa,
reside no facto de os AINEs diminuirem a hidrofobicidade do muco que reveste
o epitlio de superficie, ao ligarem-se a fosfolpidos activos da superfcie, exis-
tentes na cutcula gelatinosa do muco.
(2) Supresso da sntese de prostaglandinas
Em 1971, Vane descobriu que os AINEs inibem a sntese de prostaglandinas, substn-
cias que desempenham um importante papel na modulao das defesas da mucosa.
De facto, as prostaglandinas endgenas esto envolvidas na regulao da secreo
do muco e do bicarbonato pelo epitlio gastroduodenal, do fluxo sanguneo da muco-
sa, da proliferao celular epitelial, da reparao celular e da funo dos imuncitos
da mucosa.
importante frisar que estas mesmas funes de defesa da mucosa, ou pelo menos
algumas delas, so tambm desempenhadas pelo xido ntrico.
No se sabe ainda qual o componente de defesa da mucosa gstrica que mais com-
prometido pela supresso das prostaglandinas. Postula-se actualmente que essen-
cialmente a microcirculao que est mais afectada.
Com efeito, as prostaglandinas das sries E e I so potentes vasodilatadores, conti-
nuamente produzidos pelo endotlio vascular. A inibio da sua sntese pelos AINEs,
condicionaria uma reduo no tnus vascular e leso do endotlio vascular.
Nessa leso teria um papel essencial a aderncia dos neutrfilos ao endotlio vascu-
lar, dependente da expresso de 2-integrinas (CDII/CD18) nos neutrfilos e de mol-
culas de adeso intercelular (ICAM-I) no endotlio vascular.
O aumento de adeso dos neutrfilos ao endotlio vascular seria em parte conse-
quncia da inibio das prostaglandinas, que acarretaria uma excessiva libertao do
factor de necrose tumoral (TNF-) a partir dos macrfagos e dos mastcitos.
No entanto, alm das prostaglandinas, tambm os leucotrienos, derivados do cido
araquidnico, tm a propriedade de estimular a aderncia dos neutrfilos ao endot-
lio vascular. A produo de leucotrienos 4 aumenta com a administrao de AINEs.
A aderncia de neutrfilos ao epitlio vascular induz uma activao destas clulas,
com libertao de proteases (por ex. elastase e colagenase) e de radicais livres de oxi-
gnio. Estas substncias podem mediar muitas das leses endoteliais e epiteliais pro-
vocadas pelos AINEs. Por outro lado, a aderncia dos neutrfilos pode condicionar
obstruo dos capilares, reduzindo deste modo o fluxo sanguneo na microcirculao.
Ao interferirem na microcirculao, os AINEs podem comprometer o processo de reno-
vao e reparao celular. Alis, os AINEs no s so ulcerognicos, como tambm
condicionam o atraso na cicatrizao de lceras pr-existentes, ou promovem a sua
hemorragia.
Embora as lceras induzidas por AINEs possam ocorrer em indivduos aclordricos, h
evidncia comprovada de que a presena de cido clordrico pode contribuir para a
agresso pelos AINEs, por vrias razes: (1) agravando a leso da mucosa induzida
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
187
por outros agentes; (2) interferindo com a hemostase (a agregao plaquetar inibi-
da a pH<4); (3) interferindo com o processo de reparao celular; (4) inactivando
vrios factores de crescimento, importantes para a manuteno da integridade da
mucosa.
H dados clnicos controversos relativamente a um eventual papel desempenhado
pelo H. pylori na patognese das lceras induzidas por AINEs. Os achados discrepan-
tes reflectem a interaco complexa entre o Hp e os AINEs. A evidncia existente apon-
ta para uma posio que no entende essa relao numa perspectiva de sim ou no.
Factores como a prvia exposio aos AINEs, uma histria passada de lcera compli-
cada, o dbito cido gstrico, a infiltrao da mucosa por neutrfilos, a teraputica
concorrente com frmacos inibidores da secreo e o tipo de AINEs utilizado (aspiri-
na versus AINEs) influenciariam o papel do Hp como factor de risco nos consumido-
res de AINEs.
A identificao destes factores tem importncia pelas suas implicaes teraputicas.
Actualmente, indicam-se as seguintes situaes onde a existncia de infeco Hp
poder eventualmente aumentar o risco na patognese das lceras por AINEs:
-Ausncia de prvia exposio a AINEs
-Histria passada de lcera complicada
-Ausncia de teraputica inibidora cida concomitante
-Infiltrao da mucosa gstrica por neutrfilos
-? Dbito cido elevado
-? Baixa dose de aspirina
No quadro seguinte, procuramos fazer uma sntese da patognese da lcera pptica
por AINEs:
Doenas do Aparelho Digestivo
188
Aderncia de neutrfilos
ao endotlio vascular
Fluxo sanguneo
na microcirculao
lcera
Prostanglandinas TNF
Leucotrienos
Produo de proteases
e radicais livres
Irritao tpica da mucosa:
Reteno intracelular de ies
Interferncia na fosforilizao
oxidativa
Hidrofobicidade do muco
AINEs
PATOGNESE DA LCERA POR AINES
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
189
Grupo sanguneo O 1.3 UD Mecanismo desconhecido
Grupo sanguneo Lewis b ? UG e UD Facilita a aderncia do Hp
mucosa gstica
Estado no secretor 1.5 UD Mecanismo desconhecido
HLA DQA ? UP Aumento da susceptibilidade infeco Hp
Massa celular parietal ? UD Dbito cido ?
Dbito cido gstrico 5.0 UG
15.5 UD
FACTORES ENDGENOS DE RISCO DA LCERA PPTICA
Factor de risco Odds racio Tipo de lcera - mecanismo
UD, lcera duodenal; UG, lcera gstrica; UP, UG+UD
4. EPIDEMIOLOGIA E FACTORES DE RISCO
A. Dados Epidemiolgicos
Vrios estudos epidemiolgicos suportam a concluso de que a prevalncia de lce-
Doenas do Aparelho Digestivo
190
ra pptica de cerca de 10% no adulto, ao longo da vida. A prevalncia estimada,
com base em estudos endoscpicos realizados em adultos voluntrios, aponta cifras
de 1-6% em indivduos infectados pelo H. pylori, percentagens 4-10 vezes superiores
s detectadas em indivduos no infectados. Nos indivduos Hp-positivos, a taxa de
prevalncia ao longo da vida seria de 10-20%.
Antes da era do H. pylori, estimava-se uma incidncia anual de lcera entre 0.1-0.3%.
Vrios estudos indicam uma incidncia de lcera de cerca de 1%/ano em indivduos
infectados pelo H. pylori, uma cifra que 6-10 vezes superior apurada nos indiv-
duos no infectados.
Nos pases industrializados ocidentais, o risco de desenvolvimento da lcera pptica
depende da data de nascimento. O risco de lcera foi mais elevado nas geraes nas-
cidas no final do sculo dezanove, e declinou nas geraes subsequentes. Este padro
de risco em funo da coorte de nascimento, indica a exposio a factores de risco
relevantes para a lcera pptica na faixa etria precoce da vida.
FACTORES EXGENOS DE RISCO DA LCERA PPTICA
Factores de risco Odds racio Tipo de lcera - mecanismo
Infeco H. pylori 4.0 UG ver Patognese
3.2 UG ver Patognese
AINEs 4.3 UG ver Patognese
3.2 UD ver Patognese
Idade 1.1 UG por dcada
1.4 UG por dcada
Sexo (M:F) 0.7 UG O risco no homem diminuiu
1.3 UD consideravelmente nos ltimos anos
Raa no branca 1.2 UG Infeco Hp mais frequente
0.6 UD na infncia
Estrato scio-econmico 1.6 UP Maior chance de infeco HP
Tabaco 1.5 UG ? Radicais livres
2.0 UD ? Microcirculao
lcool 2.8 UG Provavelmente atravs da
2.4 UD induo de cirrose heptica
Stress mental 1.8 UP Dbito cido (?)
Stress cirrgico ou traumtico 1.0 Susceptibilidade lcera de stress
Stress fsico 2.1 UD Dbito cido
Sal na dieta 3.6 UG Induo de gastrite
Inverno v. vero 1.2 UP Mecanismo desconhecido
Os indivduos que foram infectados pelo H. pylori em idade jovem, so mais prop-
cios a contrair quadros de gastrite crnica com atrofia e subsequente reduo da
secreo cida, fenmeno que os protege da lcera duodenal mas que os torna mais
susceptveis lcera gstrica e ao cancro do estmago. Pelo contrrio, a aquisio de
infeco Hp em idade mais avanada, favorece mais o desenvolvimento da lcera duo-
denal.
A partir de 1970, vrios indicadores indirectos, designadamente as taxas de hospita-
lizao, de cirurgia e de morte, sugerem uma acentuada diminuio na lcera duode-
nal, e possivelmente tambm na lcera gstrica, em todo o mundo. No entanto, as
taxas de hospitalizao por complicao hemorrgica aumentaram na lcera gstrica,
e as taxas de perfurao da lcera no se alteraram. Estas variaes temporais da
lcera pptica devem relacionar-se com variveis ambientais e demogrficas, tipifica-
das na infeco pelo H. pylori, no consumo de AINEs e de tabaco e no aumento da
idade mdia de vida.
B. Factores de Risco
Podemos dividir os factores de risco da lcera pptica em dois tipos: endgenos e
exgenos.
No quadro seguinte indicam-se os factores endgenos de risco da lcera pptica, com
o respectivo coeficiente de impacto, em termos de Odds racio:
Quanto aos factores exgenos, a infeco pelo H. pylori e o consumo de AINEs repre-
sentam os factores mais importantes, para os dois tipos de lcera. H outros facto-
res, no entanto, que devem ser considerados nesta anlise, embora ainda no esteja
cabalmente esclarecida a exacta natureza e magnitude da sua influncia. Uma sinop-
se desses factores encontra-se vertida no quadro seguinte:
Finalmente, deve sublinhar-se a associao entre a existncia de algumas doenas e
o maior desenvolvimento de lcera gstrica ou duodenal: doena pulmonar obstruti-
va crnica, hepatopatia crnica e cirrose, hipertenso portal, pancreatopatias, artro-
patias e artrite.
5. CLNICA
A. SINTOMAS
Com o advento da fibroendoscopia, foi possvel verificar que a lcera pptica tem for-
mas de apresentao clinica variegadas, e deduzir que os sintomas desta frequente
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
191
afeco tm escassa sensibilidade e especificidade.
No quadro seguinte, esto indicados os vrios tipos de apresentao clnica da lce-
ra pptica:
COMENTRIOS
Sndrome ulcerosa tpica
- Surge em cerca de 50% dos doentes com lcera pptica, gstrica ou duodenal.
Denominada de dispepsia cida por alguns autores, esta sindrome caracteriza-se
essencialmente pela ocorrncia de dor abdominal com ritmicidade, periodicidade
e cronicidade.
- A dor tem sede epigstrica, podendo no entanto irradiar para os hipocndrios ou
para a regio dorso-lombar. usualmente uma dor tipo queimadura, com gradua-
o varivel na intensidade, em parte resultante da penetrao mais ou menos
profunda do processo ulceroso.
- O ritmo dirio uma das principais caractersticas da dor. Ocorre cerca de 2-3
horas aps as refeies e noite (entre as 23 horas e as 2 horas), perodo em
que a estimulao circadiana da secreo cida mxima. Pode tambm apo-
quentar o doente nos perodos de jejum. Os alcalinos, os alimentos e os agen-
tes anti-secretores, aliviam a dor.
- Outra caracterstica da dor ulcerosa a sua periodicidade. A crise dolorosa pro-
longa-se por algumas semanas (entre 3-5 semanas), intervaladas por perodos de
acalmia de meses ou anos. Muitas vezes, sobretudo na lcera duodenal, existe
uma periodicidade sazonal, com crises dolorosas mais frequentes no inverno e
incio da primavera, e menos frequentes no vero. A doena tem uma evoluo
crnica e recidivante. Desde que no surjam complicaes, cada crise muito
semelhante anterior.
- Embora ainda no se encontre cabalmente esclarecido o mecanismo da dor, pos-
lcera
assintomtica
Indigesto
ou Disgastria
Sindrome
ulcerosa tpica
Sintomas
ps-cicatrizao
Sintomas
de
complicaes
APRESENTAO CLNICA DA LCERA PPTICA
Doenas do Aparelho Digestivo
192
tula-se que ser resultante de uma sensibilizao ou irritabilidade visceral pelo
cido clordrico.
Indigesto ou disgastria
- Muitos doentes com lcera pptica no apresentam a clssica sindrome ulcero-
sa. Os sintomas so incaractersticos, sendo comum a indigesto, a anorexia e a
perda de peso. Os sintomas de indigesto (desconforto epigstrico, eructaes,
distenso, enfartamento, nuseas e mesmo vmitos) ocorrem na ausncia de obs-
truo pilrica. Este quadro sintomtico semelhante ao da dispepsia funcional
tipo dismotilidade.
lcera assintomtica
- Em estudos com base no exame endoscpico apurou-se que 1-3% de adultos
voluntrios tinham ulcera pptica sem queixas clnicas. Dados de numerosos
ensaios teraputicos controlados por endoscopia indicam que muitos doentes sub-
metidos a protocolos teraputicos deixam de ter sintomas e no entanto persiste a
cratera ulcerosa. A percentagem destes casos situa-se entre 15-44%, consoante as
sries.
Sintomas ps-cicatrizao
- Tambm se comprovou, nesses ensaios teraputicos controlados por endoscopia,
que muitos doentes continuam a apresentar sintomas aps comprovao endos-
cpica da cicatrizao da lcera. Essa percentagem de casos chega a atingir, nal-
guns ensaios, os 40%.
Sintomas de complicaes
- Podem constituir a primeira manifestao da lcera pptica. As principais compli-
caes so a hemorragia, a perfurao e a estenose pilorobulbar. Alguns estudos
computam em 25% os casos de lcera em que a primeira apresentao clnica foi
a de uma complicao. Este evento particularmente testemunhado nos doentes
medicados com AINEs. De facto, alguns estudos apontam para complicaes de
hemorragia digestiva em mais de 50% dos casos, sem sintomas disppticos ante-
cedentes. Este fenmeno deve-se, provavelmente, aco analgsica dos AINEs.
a) Hemorragia digestiva
- A lcera pptica a causa mais frequente de hemorragia digestiva alta, sendo
responsvel por cerca de 50% destes episdios hemorrgicos. O risco hemorr-
gico aumenta 3-5 vezes nos doentes que utilizam AINEs. Embora a maioria dos
doentes com lcera pptica estejam infectados pelo H. pylori, impossvel con-
cluir qual destes dois principais factores etiolgicos da lcera responsvel pela
complicao. H estudos que indicam serem factores independentes de risco. Em
doentes onde o H. pylori era o nico factor conhecido de risco, a erradicao
deste agente infeccioso reduziu de forma significativa a recidiva hemorrgica.
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
193
b) Perfurao
- Em cerca de 10% dos doentes com lcera pptica ocorre perfurao, que origina
uma dor epigstrica severa, usualmente irradiando para o dorso ou para outras
zonas. rapidamente seguida de um quadro de peritonite difusa. O consumo de
AINEs aumenta em 5-8 vezes o risco de perfurao. Em doentes com lcera per-
furada, a percentagem dos que tomavam AINEs varia, consoante os estudos,
entre 11% e 44%. A evidncia actual sugere que a infeco por H. pylori no
representa um risco adicional importante nos doentes medicados com AINEs.
Importa sublinhar que as complicaes de hemorragia ou de perfurao podem
ocorrer na ausncia de infeco Hp e de consumo de AINEs. Provavelmente o con-
sumo de tabaco constitui tambm um factor de risco de complicao da lcera
pptica.
c) Estenose pilrica
- uma complicao que ocorre em cerca de 5% dos doentes ulcerados, em con-
sequncia de uma lcera no canal pilrico ou da cicatrizao de uma lcera bul-
bar em doentes com ditese ulcerosa crnica. O doente apresenta queixas de ple-
nitude gstrica, nuseas e vmitos, que podem induzir quadros de hipocalimia
e de alcalose.
d) Malignizao
- Est actualmente comprovado que o risco de malignizao da lcera gstrica
ligeiramente elevado (at 4%, segundo alguns estudos), ao passo que nos doen-
tes com lcera duodenal esse risco est diminudo, cerca de quatro vezes.
B. Exame Fsico
O exame fsico do doente permite avaliar o seu estado geral, eliminar outras enfermi-
dades e apreciar a sensibilidade dolorosa. geralmente bom o estado geral do doen-
te com lcera pptica. O apetite usualmente est conservado. A perda de peso pode
traduzir uma complicao de estenose pilrica e, mais raramente, a malignizao de
uma lcera gstrica. Na maioria dos casos detecta-se, no paciente com lcera no
complicada, uma zona epigstrica, bem delimitada, dolorosa presso. A existncia
de defesa abdominal ou de anemia, pode traduzir a vigncia de complicaes.
Frequentemente o doente com lcera duodenal apresenta uma sindrome psicovegeta-
tiva traduzida em eritema emocional, dermografismo, tremor palpebral e digital, sudo-
rao, bradicardia, hipotenso arterial e hipereflexia.
Doenas do Aparelho Digestivo
194
6. DIAGNSTICO
O diagnstico de lcera pptica baseado exclusivamente na fenomenologia clnica
impreciso, mesmo nos doentes com a sindrome ulcerosa tpica. Por um lado, os qua-
dros clnicos de lcera pptica podem surgir noutras afeces gastroduodenais (desig-
nadamente na dispepsia funcional e no cancro do estmago), ou mesmo em situa-
es extragsricas (designadamente na doena do refluxo gastoesofgico, no clon
irritvel, em pancreatopatias e colecistopatias). Alm disso, no existe paralelismo
entre o desaparecimento das queixas, ou a sua persistncia, e a cicatrizao do pro-
cesso ulcerativo. indispensvel, por isso, recorrer a estudos complementares para a
formulao de um diagnstico exacto de lcera pptica.
Exame endoscpico
Constitui actualmente o mtodo mais rigoroso de deteco da lcera pptica. A eso-
fagogastroduodenoscopia um exame sensvel, especfico e seguro, com uma efic-
cia que ultrapassa indiscutivelmente o tradicional exame radiolgico.
A identificao endoscpica de uma lcera gstrica deve ser complementada com a
realizao de bipsias no fundo e nos bordos da cratera ulcerosa, no sentido de eli-
minar a hiptese de lcera maligna.
Durante o acto endoscpico, podem ser colhidas bipsias para identificao da infec-
o pelo H. pylori, de acordo com a metodologia descrita no captulo especial deste
livro sobre Gastrite. Se o exame endoscpico detecta uma lcera gstrica ou uma
lcera duodenal, deve pesquisar-se a infeco Hp, segundo a maioria dos autores.
A lcera gstrica pptica localiza-se usualmente na pequena curvatura, na fronteira
entre a mucosa antral e a mucosa do corpo gstrico. lceras com outra localizao
so frequentemente originadas por AINEs, ou podem traduzir um processo maligno ab
initio.
A endoscopia particularmente valiosa no diagnstico da complicao hemorrgica
da lcera pptica. Alm de facultar uma preciosa informao diagnstica, contribui
para definir o prognstico e controlar a hemorragia.
O exame endoscpico pode tambm ser utilizado na confirmao da cicatrizao do
processo ulcerativo, sobretudo no tocante lcera gstrica.
Exame radiolgico gastroduodenal
Foi nitidamente suplantado pelo exame endoscpico na identificao da lcera ppti-
ca. Continua no entanto a ser til em determinadas situaes clinicas: (1) doente que
recusa o exame endoscpico ou com contra-indicaes (raras) para este exame; (2)
estenose pilrica que inviabiliza a inspeco endoscpica do bolbo duodenal e de D
II; (3) antes da interveno cirrgica por lcera pptica (em certos casos).
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
195
Avaliao laboratorial
Os exames laboratoriais de rotina devem incluir: hemograma, provas hepticas, crea-
tinina srica e calcmia. A gastrinmia deve ser solicitada na suspeita de sindrome de
Zollinger-Ellison, ou na lcera refractria teraputica mdica.
O estudo da secreo cida basal, e ps-estimulao, outrora muito em voga, tem
actualmente escasso interesse clnico. Pode ser solicitado nas situaes de hipergas-
trinmia (Zollinger-Elisson? Acloridria?), ou mais remotamente na lcera refractria
teraputica anti-secretora.
A deteco da infeco pelo H. pylori deve realizar-se, como se sublinhou, no contex-
to do exame endoscpico. Aps teraputica de erradicao do H. pylori em doentes
com lcera duodenal, aconselham muitos autores a realizao de um teste respirat-
rio da ureia, para confirmao da cura da infeco.
7. TRATAMENTO
A. lcera no Complicada
A1 lcera associada a infeco por H. pylori
Um dos maiores avanos cientficos recentes, a cura da lcera pptica mediante a
erradicao da infeco pelo Helicobacter pylori. Sendo este o principal agente etio-
lgico da lcera pptica, a sua eliminao determina uma alterao radical na hist-
ria natural da ditese ulcerosa pptica.
Antes do advento desta revolucionria teraputica, a lcera pptica era comummente
tratada por inibidores potentes da secreo cida. Embora os resultados fossem bons
ou excelentes, em termos de cicatrizao da leso ulcerosa, a taxa de recorrncia aps
a suspenso da medicao era elevada, em torno dos 70%, aproximadamente. Mesmo
que fosse utilizada teraputica de manuteno, aps a cicatrizao do processo, a
taxa de recidiva ulcerosa atingia 10-20% dos casos.
Com a moderna teraputica de erradicao do H. pylori, se esta for bem sucedida, as
taxas de recorrncia ulcerosa so de 0-5%. Estas recidivas so determinadas, sobretu-
do, por recrudescncia da infeco. tambm provvel que estas escassas recorrncias
sejam motivadas por aspirina ou AINEs, aps teraputica de erradicao eficaz.
Na lcera duodenal, os actuais regimes de teraputica tripla, que incluem um inibidor
da bomba de protes (IBP) associado a dois antibiticos (metronidazole + claritromi-
cina ou amoxicilina + claritromicina), administrados durante uma semana, constituem
uma opo teraputica eficaz, simples e segura, com taxas de erradicao de cerca de
90% (por protocolo). Na USA e na frica do Sul, obtiveram-se taxas de erradicao
Doenas do Aparelho Digestivo
196
ainda melhores, utilizando duas semanas de tratamento, custa, no entanto, de efei-
tos secundrios mais frequentes. Nestes pases propem alguns autores um regime
teraputico de 10 dias.
Como j foi referido num captulo deste livro dedicado infeco pelo H. pylori,
alguns estudos, utilizando o composto ranitidina bismuto citrato, em vez do IBP, obti-
veram tambm muito bons resultados.
A dose do IBP deve ser a dose standard duas vezes por dia; a dose da claritromicina
deve ser de 500 mgr, duas vezes por dia, quando combinada com amoxicilina; a dose
desta, de 1 gr duas vezes por dia; e a dose do metronidazole de 500 mgr duas
vezes por dia.
A combinao IBP/amoxicilina/metronidazole menos eficaz do que as combinaes
acima referidas.
Um problema que tem suscitado preocupao o da resistncia bacteriana aos anti-
biticos. A prevalncia de resistncia aos nitroimidazis de 10-50% nos pases indus-
trializados, mas chega a atingir os 80% em pases tropicais. Provavelmente mais grave
ser a resistncia aos macrlidos, na medida em que compromete mais a eficcia tera-
putica, com uma reduo estimada de 20-50%. Felizmente que esta resistncia flu-
tua em torno dos 3%, embora se tenha testemunhado, designadamente em Portugal,
uma tendncia para o aumento dessa cifra.
Em caso de falncia da teraputica de erradicao, o ideal ser realizar um teste de
resistncia aos antibiticos, para seleccionar uma segunda linha de tratamento. Como
esta prtica nem sempre vivel, deve tentar-se uma nova teraputica de erradica-
o, utilizando outra combinao tripla, ou prescrevendo a chamada teraputica qu-
drupla, que adiciona teraputica tripla a ranitidina bismuto citrato.
Na lcera duodenal, e aps uma semana de teraputica tripla, no necessrio pros-
seguir com teraputica anti-secretora. No entanto, alguns autores advogam teraputi-
ca anti-secretora, utilizando um IBP, durante mais trs semanas, nas seguintes situa-
es: lcera duodenal > 20 mm, e lcera duodenal complicada de hemorragia. Quatro
semanas aps a teraputica, o doente deve realizar um teste respiratrio da ureia,
para confirmao da erradicao da infeco.
Quanto lcera gstrica, existe evidncia suficiente para afirmar que a eficcia da
erradicao do Hp no diferente da registada na lcera duodenal. Deste modo, a
teraputica standard da lcera gstrica idntica da lcera duodenal.
No entanto, tendo em conta que as taxas de cicatrizao da lcera gstrica, 4-6 sema-
nas aps a teraputica de erradicao, so um pouco inferiores s da lcera duode-
nal, postulando-se que o tempo de reparao da lcera gstrica mais prolongado,
aconselha-se neste tipo de lcera um tratamento de erradicao de uma semana,
seguido de trs semanas de teraputica anti-secretora com um IBP. Aps quatro sema-
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
197
nas de tratamento, o doente deve realizar exame endoscpico para confirmao da
cicatrizao da lcera, e deteco do H. pylori para confirmar a erradicao da infec-
o.
No est ainda devidamente esclarecido, se a erradicao do H. pylori no doente ulce-
rado condiciona, futuramente, quadros de esofagite por refluxo gastro-esofgico. Os
resultados de estudos at agora elaborados sobre esta matria, so contraditrios.
Teoricamente, a presena do H. pylori no estmago, ao induzir um quadro de gastri-
te crnica no corpo, poderia induzir diminuio da secreo cida e aumento da gas-
trinmia, factores que protegeriam contra a DRGE (note-se que a gastrina eleva o
tnus do EEI).
No quadro seguinte, apresenta-se uma proposta de abordagem teraputica da lce-
ra pptica, luz dos considerandos atrs alinhados:
Teraputica tripla
TERAPUTICA DA LCERA PPTICA HP+
IBP
+
Claritromicina / Amoxicilina
ou
Claritromicina / Metronidazole
Durao do tratamento: uma semana
lcera duodenal lcera gstrica
Continuar com IBP
durante 3 semanas
Controlo endoscpico
(confirmao da cicatrizao)
Um ms depois: teste respiratrio
da ureia (confirmao da erradicao
da infeco)*
* Se persiste a infeco, repetir a teraputica tripla com outro esquema, ou tentar teraputica qudrupla
> 20 mm
ou
hemorrgica
Um ms depois:
teste respiratrio
da ureia*
Doenas do Aparelho Digestivo
198
A2 lcera associada a AINEs
I.Tratamento
O objectivo do tratamento da lcera gastroduodenal associada a AINEs visa trs
aspectos: tratamento da lcera no complicada, tratamento das complicaes e pre-
veno de recidiva.
Na vigncia de uma lcera pptica no complicada, uma primeira medida a suspen-
so do AINE, substituindo-o em caso de necessidade por um analgsico no txico,
nomeadamente o acetaminofeno. No entanto, numa significativa percentagem de
doentes, h necessidade de continuar a prescrever AINEs, para minorar as queixas do
doente. Nesses casos deve tentar-se, pelo menos, uma reduo na posologia.
Os agentes que tm sido utilizados no tratamento da lcera por AINEs so:
- Agentes protectores da mucosa:
Sucralfato
Prostaglandinas
- Agentes anti-secretores:
Inibidores H2
Inibidores da bomba de protes
O sucralfato mostrou ser eficaz na lcera duodenal, mas no evidenciou benefcio na
lcera gstrica.
Num estudo recente, Hawkey et al compararam a capacidade do misoprostol (200 g,
4x/dia) v. omeprazole (20 ou 40 mgrs/dia) na cicatrizao de lceras gastroduodenais
em doentes que continuaram a medicao com AINEs (estudo OMNIUM). Aps 8 sema-
nas de tratamento, as taxas de cicatrizao da lcera duodenal ou gstrica, foram
superiores nos grupos tratados com omeprazole. Dado que o misoprostol claramen-
te menos eficaz do que o omeprazole e tem mais efeitos adversos, no se recomen-
da a sua utilizao na lcera gastroduodenal activa, em doentes sob teraputica com
AINEs.
Os antagonistas dos receptores H2 evidenciaram eficcia na cicatrizao de lceras
duodenais e gstricas quando o doente suspendia a medicao com AINEs. Essa efi-
ccia diminui bastante se no h suspenso desta medicao. Tratamentos muito pro-
longados conferem melhor benefcio.
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
199
indiscutvel que os inibidores da bomba de protes constituem actualmente a
melhor opo teraputica no tratamento da lcera gastroduodenal por AINEs. Nos
ensaios comparando o omeprazole (20 ou 40 mgrs/dia) ou o lansoprazole (15 ou 30
mgrs/dia) com ranitidina (150 mgrs, 2x/dia), houve benefcio mais significativo nos gru-
pos tratados com IBP, mesmo com continuao da teraputica anti-inflamatria.
Considerando que uma percentagem significativa de doentes com lcera por AINEs,
tm concomitantemente infeco pelo H. pylori, a erradicao desta poderia, teorica-
mente, facilitar a cicatrizao da lcera. Num estudo realizado procurando dar respos-
ta a este quesito, verificou-se de facto um efeito oposto, isto , a erradicao do Hp
atrasou a cicatrizao dos processos ulcerativos. Embora ainda no exista uma evi-
dncia definitiva, pensa-se actualmente que a erradicao da infeco Hp no confe-
re benefcio no tratamento da lcera por AINEs. Est hoje bem documentado que essa
infeco condiciona um aumento de produo de prostaglandinas na mucosa gastro-
duodenal, circunstncia que favorece a cicatrizao de processos erosivos ou ulcera-
tivos.
Tendo em conta as consideraes tecidas relativamente ao tratamento da lcera por
AINEs, julgamos aconselhvel a seguinte estratgia clnica:
IBP - dose dupla
(at documentao da cicatrizao)
Considerar profilaxia
permanente
? Erradicao da infeco por H. Pylori *
Suspenso da medicao com AINEs
* Presentemente no h evidncia cientfica
** IBP - Inibidor da bomba de protes
** IBP - dose standard
(8 - 12 semanas)
Confirmar cicatrizao
de lcera pptica
Evitar AINEs no futuro
ou
considerar ev. profilaxia
TERAPUTICA DA LCERA POR AINES
Suspenso no vivel Suspenso possvel
Doenas do Aparelho Digestivo
200
II. Profilaxia
Genericamente, tm sido utilizadas duas estratgias para prevenir ou atenuar a gas-
tropatia induzida por AINEs: (a) utilizao concomitante de frmacos protectores e (b)
desenvolvimento e utilizao de novos agentes anti-inflamatrios, sem efeito ulcero-
gnico na mucosa gastrobulbar.
(a) Utilizao concomitante de frmacos protectores da mucosa gastrobulbar
O sucalfato no recomendado no mbito da profilaxia de leses ulcerosas por AINEs,
luz dos resultados de vrios ensaios teraputicos.
Os inibidores H2 tambm no so recomendados. Embora possuam alguma eficcia
na preveno da lcera duodenal, menos notrio o seu benefcio quanto lcera
gstrica. Alis, revelaram-se inferiores ao misoprostol em vrios ensaios clnicos,
mesmo em doses elevadas.
Vrios ensaios clnicos tm evidenciado o indiscutvel benefcio dos inibidores da
bomba de protes na profilaxia da lcera gastroduodenal por AINEs. Num estudo cls-
sico, denominado ASTRONAUT, Yeomans et al verificaram que o omeprazole, na dose
de 20 mgr por dia, foi superior ranitidina, na dose de 150 mgr, duas vezes por dia.
Num outro importante estudo clnico, apelidado de OMNIUM, Hawkey et al compara-
ram o omeprazole (20 mgr/dia) com misoprostol (200 g, duas vezes/dia). Verificaram,
ao cabo de 6 meses, que o omeprazole foi to efectivo quanto o misoprostol, com a
vantagem de no possuir os efeitos adversos deste produto. Finalmente, num estudo
designado de OPPULENT, Cullen et al, comprovaram o beneficio profilctico da utiliza-
o do omeprazole, em comparao com placebo.
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
201
Risco comprovado
- Idade > 60 anos
- Histria prvia de lcera pptica
- Uso concomitante de corticides
- Utilizao de dois ou mais AINEs
- Utilizao de anticoagulantes
- Doena associada importante
Risco possvel *
- Infeco Hp concomitante
- Consumo de tabaco
- Abuso de lcool
FACTORES DE RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE ULCERA PPTICA POR AINEs
* Ainda sem evidncia cientfica
Vrios estudos evidenciaram, de forma categrica, que o misoprostol tem efeitos pro-
filcticos na lcera gstrica e duodenal por AINEs. Os benefcios so mais evidentes
com doses de 400 g, 4 vezes/dia. Infelizmente, com esta posologia surgem frequen-
temente queixas de diarreia e dor abdominal, que reduzem a compliance do doen-
te. Alm disso, porque aumenta a contractilidade uterina, o misoprostol est contra-
indicado na mulher em fase frtil. Por ltimo, importa acentuar que o misoprostol,
ainda que previna a ulcera gastrobulbar, ineficaz na preveno de sintomas por
AINEs, ao contrrio dos inibidores da bomba de protes.
Tendo em conta estas consideraes, a tendncia actual recomendar a prescrio de
um IBP na profilaxia da lcera gastrobulbar motivada por AINEs.
Esta profilaxia particularmente recomendada nos doentes que apresentam factores
de risco de desenvolvimento de lcera pptica por AINEs, que se indicam no quadro
seguinte:
(b) Utilizao de AINEs menos agressivos
Em face da gastrotoxicidade dos AINEs convencionais, que inibem frequentemente a
ciclooxigenase I (COX-I), a investigao farmacolgica recente procurou identificar
agentes anti-inflamatrios sem aquelas propriedades gastroagressivas. A descoberta
Doenas do Aparelho Digestivo
202
Hematemeses 60 80%
- Sangue vivo 20 40%
-Sangue escuro 40 60%
Melena 40 70%
Hematoquzia 10 15%
Taquicardia 50 70%
Hipotenso 20 50%
Choque 5 10%
SINAIS E SINTOMAS EM DOENTES COM HDA
de uma segunda ciclooxigenase (COX-2), foi o ponto de partida para a intensificao
da pesquisa nesta rea, que culminou com a manufactura de dois produtos, j dispo-
nveis, que tm a propriedade de inibirem selectivamente a COX-2.
Um destes novos frmacos, o celecoxib, revelou, em ensaios clnicos realizados na
USA, uma incidncia de lcera pptica similar do placebo, e muito inferior indu-
zida pelo naproxeno ou pelo diclofenac.
O outro frmaco, o rofecoxib, revelou efeitos anti-inflamatrios na osteoartrite no
inferiores ao ibuprofeno e ao diclofenac, e muito menor incidncia de processos ulce-
rativos.
Novos compostos encontram-se presentemente em fase de ensaio. Trata-se da asso-
ciao de AINEs ou de aspirina a uma molcula de xido ntrico, que tem um papel
crucial na defesa da integridade da mucosa gastrobular. Ao libertarem o NO sem per-
derem a sua capacidade anti-inflamatria, estes novos compostos seriam menos
agressivos, sendo aguardados com grande expectativa.
Uma outra formulao em estudo, a associao de AINEs a fosfolpidos. Alguns
autores evidenciaram que esta associao menos agressiva para a mucosa gstrica,
na medida em que no diminui a hidrofobicidade do muco gstrico.
B. LCERA COMPLICADA
B1 Hemorragia digestiva
A lcera pptica continua a ser a causa mais comum de hemorragia digestiva alta,
sendo responsvel por cerca de 50% destes episdios. provvel que esta incidn-
cia tenda a diminuir, dado que a prevalncia da infeco Hp propende a baixar e a
sua erradicao vai-se alargando. E por outro lado, com o advento dos AINEs espec-
ficos da COX-2, e a eficcia do omeprazole na preveno da lcera induzida pelos
AINEs tradicionais, ocorrero menos frequentemente complicaes hemorrgicas.
A hemorragia digestiva alta uma das mais frequentes emergncias hospitalares.
Apesar dos avanos no diagnstico, da disponibilidade de novos frmacos, dos con-
siderveis progressos na endoscopia e na radiologia de interveno, no houve, nos
ltimos 5 anos, uma alterao aprecivel na taxa de mortalidade, que continua a ron-
dar os 10%. Este facto em grande parte explicado pelo aumento da idade mdia de
vida e pelas doenas associadas nas faixas etrias mais avanadas.
No quadro seguinte, indicam-se os sinais e sintomas em doentes com hemorragia
digestiva alta (HDA):
Em cerca de 80% dos doentes com hemorragia digestiva alta (HDA), esta cessa espon-
tneamente, necessitando unicamente de tratamento de suporte. Nos restantes 20%
de casos, a hemorragia persiste ou h recidiva hemorrgica, e neste grupo de alto
risco que surgem usualmente complicaes e a morte. fundamental identificar este
sub-grupo de risco, e trat-lo por equipa especializada e em ambiente prprio.
O tratamento de uma HDA, designadamente por lcera pptica, desdobra-se em vrias
etapas: (1) avaliao clnica, ressuscitao e estabilizao hemodinmica; (2) diagns-
tico endoscpico; (3) avaliao prognstica e triagem; (4) tratamento.
Estas etapas no so necessariamente sequenciais:
(a) Avaliao clnica, ressuscitao, estabilizao hemodinmica
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
203
A abordagem inicial do doente com HDA aguda, inclui uma avaliao da severidade
da hemorragia, a implementao de medidas de ressuscitao e a realizao de uma
breve histria clnica com exame fsico limitado.
A avaliao clnica da severidade da hemorragia implica uma anlise da situao
hemodinmica do doente, com monitorizao dos sinais vitais: pulso, presso sangu-
nea e alteraes posturais.
Uma diminuio ostosttica de 20 mmHg na presso sistlica ou um aumento no
ritmo do pulso de 20 pulsaes/minuto, indiciam uma depleo de pelo menos 20%
no volume intravascular. Com perdas maiores, a presso sistlica continua a baixar, o
pulso acelera e eventualmente surge hipotenso em decbito. Segue-se o colapso
vascular, evidenciando o doente frequentemente sinais de choque hipovolmico. Estes
achados hemodinmicos so influenciados por outros factores, designadamente medi-
camentos que o doente consumia, idade, integridade vascular e do sistema nervoso
autnomo.
Em concomitncia com a avaliao clnica, iniciam-se medidas de ressuscitao. O san-
gue enviado ao laboratrio para determinao da concentrao da hemoglobina e
do hematcrito, perfil da coagulao, contagem de plaquetas, tipo sanguneo e an-
lise srica da ureia, creatinina e provas funcionais hepticas. Solicitar um ECG, sobre-
tudo no idoso ou na hemorragia severa.
A ressuscitao com fluidos geralmente iniciada com cristalides (soro fisiolgico ou
lactato de Ringer), no sendo usualmente necessrio a administrao de colides, a
no ser que exista hipoalbuminmia severa. A insero de um catter vesical til
para avaliao da adequao dos fluidos administrados e da perfuso dos orgos
vitais. Os agentes simpaticomimticos no so geralmente requeridos neste perodo
inicial, uma vez que o problema existente tipicamente o de depleo de volume.
Devem ser administrados, contudo, em situaes de choque refractrio.
As transfuses de sangue, frequentemente de concentrados de glbulos vermelhos,
so usualmente indispensveis. Devem ser evitadas recomendaes rgidas, designa-
damente a de procurar manter o hematcrito acima dos 30%. Um valor de hemoglo-
bina acima de 7-8 gr/dl geralmente aceitvel no doente jvem, sem hemorragia acti-
va. No doente idoso ou com patologia cardiovascular, deve manter-se um nvel de
hemoglobina em torno dos 10 gr/dl, sobretudo nos doentes com risco elevado de reci-
diva. Como guia de orientao, uma unidade de concentrado de g.v. eleva o nvel da
hemoglobina em 1.0 gr/dl, em mdia, se o doente no est em hemorragia activa.
Quando h necessidade de muitas transfuses de sangue, pode ocorrer hipocalcmia
e deficincia nos factores V e VIII. Se a lcera pptica ocorre num contexto de cirro-
se heptica, fundamental avaliar os defeitos hemostticos associados hepatopa-
tia, e tentar a sua correco. tambm importante o estudo das plaquetas, no con-
texto da HDA. Se esto abaixo de 80.000/dl, devem ser corrigidas.
Doenas do Aparelho Digestivo
204
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
205
- Hemorragia activa 85 - 100 7 10 0 25
- Vaso visvel 50 25 30 0 20
- Cogulo fresco saliente 40 15 20 0 10
- Manchas vermelhas/negras 5 10 15 0 10
- Base limpa 0 - 5 35 - 40 0 - 3
IMPLICAES PROGNSTICAS DOS ESTIGMAS ENDOSCPICOS DA LCERA HEMORRGICA
Achado endoscpico Risco de Incidncia (%) Mortalidade (%)
persistncia/recorrncia (%)
(b) Diagnstico endoscpico
Aps adequada ressuscitao e estabilizada a situao no plano hemodinmico, deve
realizar-se um exame endoscpico. Este no deve ser efectuado com valores de hemo-
globina < 8 gr/dl. O ideal realizar o exame endoscpico nas 6-12 horas aps a admis-
so na urgncia. A disponibilidade de sangue e de oxignio, e a monitorizao, so
requisitos importantes.
A esofagogastroduodenoscopia identifica a fonte hemorrgica em 90-95% dos epis-
dios agudos de HDA. Cerca de 5-10% dos doentes tm mais do que uma leso.
No contexto da HDA, a lcera hemorrgica um achado frequente. Ao efectuar o
exame endoscpico, o gastrenterologista pode confrontar-se com as seguintes situa-
es:
- lcera com hemorragia activa
Trata-se de uma hemorragia arterial, e no venosa. A cratera ulcerosa baba sangue
ou este sai em jacto, intermitentemente. Nesta situao, se o doente no trata-
do, a incidncia de recidiva hemorrgica de 85-100%.
- lcera com vaso visvel
A lcera apresenta um vaso visvel, que no sangra, traduzido endoscopicamente
numa pequena elevao vermelha ou negra, ou a lcera apresenta um cogulo
saliente fresco (sentinel clot). Nestes casos, a probabilidade de recidiva nas prxi-
mas 24 horas de 50%. Se o exame endoscpico for associado a Doppler, a iden-
tificao do vaso torna-se mais precisa.
- lcera com cogulo aderente
Existe controvrsia quanto estratgia a seguir nesta situao. No entanto, a maio-
ria dos peritos tende a proceder irrigao da lcera, no sentido de deslocar o
cogulo. O cogulo deve ser agressivamente irrigado, durante 3-5 minutos, com
200 cc de perxido de hidrognio a 3%, at se obter uma boa definio da situa-
o. Em cerca de 1/3 dos casos, o gastrenterologista depara-se com uma hemorra-
gia activa ou vaso visvel, pelo que avana para a hemostase teraputica, como se
ver adiante.
- lcera com mculas vermelhas/negras ou base limpa
Em cerca de 1/3 dos casos, no se evidenciam os sinais endoscpicos atrs con-
siderados. O fundo da lcera encontra-se limpo ou apresenta mculas discretas. A
percentagem de recidiva hemorrgica nestes casos muito escassa.
Como vimos, podem ser vrios os estigmas endoscpicos da lcera hemorrgica. As
implicaes prognsticas desses achados encontram-se definidas no quadro seguin-
te:
Tendo em conta estes dados de prognstico, o exame endoscpico de diagnstico
deve ser complementado com abordagem teraputica, no sentido de induzir a hemos-
tase endoscpica, nas seguintes situaes:
- Hemorragia activa
- Vaso visvel
- Cogulo saliente
- Cogulo aderente (em muitos casos)
Nos doentes com estigmas mnimos de hemorragia recente, sem sinais clnicos de per-
das sanguneas, no h necessidade de tratamento endoscpico, dado que so muito
raras as hipteses de recidiva.
As primeiras 72 horas compreendem o perodo crtico destas situaes. Ultrapassado
esse perodo, as probabilidades de recorrncia hemorrgica baixam de forma muito
significativa.
A dimenso da lcera e da artria que sangra, tem muita importncia. A recidiva
hemorrgica maior nas lceras 2 cm, e nas artrias com dimetro superior a 1mm.
Por outro lado, a incidncia de recorrncia hemorrgica maior quando a lcera se
localiza na zona postero-inferior do bolbo duodenal, ou na parte alta da pequena cur-
vatura do estmago, dada a proximidade da artria gastroduodenal e da artria gs-
trica esquerda, respectivamente.
(c) Avaliao prognstica e triagem
Como j sublinhamos, em cerca de 20% dos episdios de HDA, a hemorragia persis-
te ou h recidiva hemorrgica, e neste grupo de alto risco que podem surgir com-
plicaes e a morte.
importante, por isso, identificar factores de prognstico, isto , critrios objectivos
e cientficos que orientem a estratgia de diagnstico e de teraputica. A estratifica-
o da severidade do episdio hemorrgico, deve ter em conta certos indicadores de
escopo clnico, e os dados facultados pelo exame endoscpico. O objectivo ser, por-
Doenas do Aparelho Digestivo
206
tanto, definir factores adversos de prognstico, que indiquem um maior risco de recor-
rncia hemorrgica e de mortalidade.
So considerados factores independentes de prognstico adverso:
Idade
Vrios estudos evidenciam que a mortalidade maior nos doentes com idade
superior a 60 anos.
Comorbilidade
A mortalidade mais elevada em doentes que padecem de outras enfermidades,
nomeadamente afeces do SNC, insuficincia heptica, doenas pulmonares, car-
diopatias, insuficincia renal e cancro.
Frmacos
Dois tipos de medicamentos afectam o prognstico: os AINEs, que so ulcerognicos
e originam disfuno plaquetar, e a varfarina e outros anticoagulantes que comprome-
tem a hemostase. A combinao de aspirina e anticoagulantes orais pode ocasionar
hemorragias severas. H dados que indiciam um risco aumentado de hemorragia nos
doentes medicados com corticosterides.
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
207
SCORE DE ROCKALL
Varivel Score 0 Score 1 Score 2 Score 3
Idade < 60 60 79 > 80
Choque
Pulso < 100
Presso sistlica
> 100 mmHg
Pulso > 100
Presso sistlica
> 100 mmHg
Presso sistlica
< 100 mmHg
Comorbilidade Ausente ou
discreta
Insuficincia
cardaca,
isqumia
miocrdica, outra
afeco sria
Insuficincia
renal ou
heptica
Processo maligno
Leso maligna
GI alta
Todos os outros
diagnsticos
Mallory-Weiss,
Exame
endoscpico
sem leso, sem
estigmas de
hemorragia
recente
Diagnstico
Estigmas de
hemorragia recente
lcera de base
limpa ou
manchas negras
Sangue no
tracto digestivo
alto, vaso
visvel, cogulo
fresco, hemorragia
em jacto
Severidade da hemorragia
A mortalidade mais elevada nos doentes que apresentam instabilidade hemodin-
mica, hipotenso persistente, necessidade de mais de cinco unidades de sangue nas
24 horas aps a admisso hospitalar, hemorragia traduzida em hematemeses/hema-
toquzia, ou um aspirado gstrico sanguneo que no desaparece com a lavagem gs-
trica.
Testes laboratoriais
Os seguintes parmetros laboratoriais prognosticam uma evoluo clnica adversa:
anomalias electrocardiogrficas significativas, elevao dos nveis sricos da fosfata-
se alcalina, bilirrubina, azoto ureico, creatinina, transaminases, tempos de protrombi-
na e de tromboplastina parcial, leucocitose, trombocitopenia e hipoalbuminmia.
Embora os valores do hematcrito e da hemoglobina no tenham interesse progns-
tico, para muitos autores, outros h que lhes concedem utilidade no seguimento do
processo clnico.
Incio da hemorragia
O incio da hemorragia um importante factor de prognstico. Se a hemorragia diges-
tiva acontece durante a hospitalizao do doente, a mortalidade tende a ser mais ele-
vada.
Critrios endoscpicos
Como j referimos, o exame endoscpico faculta indicaes preciosas no tocante ao
prognstico, quer no concernente aos sinais de hemorragia activa ou recente, quer no
que respeita s dimenses e localizao da lcera.
Recorrncia hemorrgica
considerado o mais importante factor de risco de mortalidade e ocorre em 10-30%
dos doentes aparentemente tratados com sucesso.
A anlise de todos estes factores individuais possibilita uma previso relativamente
evoluo do processo hemorrgico. Defendem muitos peritos, actualmente, que a apli-
cao, a cada caso clnico, de um dos vrios sistemas de multivariveis actualmente
disponveis, atravs dos quais se define um score numrico de risco, propicia maior
fiabilidade na definio do prognstico, do que a anlise dos factores individuais.
Na Europa, o sistema desenvolvido por Rockall et al tem suscitado interesse, tendo
sido objecto de aplicao prtica e validao em vrios centros de referncia. Pela sua
actualidade e importncia, apresentamos, no quadro seguinte, as caractersticas deste
sistema:
Cotao do score de Rockall:
Doenas do Aparelho Digestivo
208
- Score de risco > 8 pontos = motalidade de 41 46%
- Score de risco 2 pontos = prognstico excelente, com alta precoce ou trata-
mento no ambulatrio
A avaliao prognstica de uma hemorragia digestiva, com base em factores clnicos
e endoscpicos individuais, ou em sistemas de multivariveis, como o de Rockall,
possibilita uma triagem mais rigorosa e segura do doente com hemorragia digestiva
por lcera pptica.
Seguindo o esquema proposto por Laine e Peterson, na USA, em 1994, a triagem obe-
deceria aos seguintes critrios:
Risco elevado Risco baixo
Admisso em unidade
de cuidados intensivos (UCI)
Internamento em enfermaria
ou
vigilncia no recobro
Endoscopia
AVALIAO CLNICA DOS INDICADORES DE PROGNSTICO
Hemorragia activa
ou
vaso visvel
Cogulo
aderente
Mancha
(vermelha ou negra)
Base limpa
Teraputica endoscpica
Alta a partir
de 24 horas
Enfermaria x 3 dias
UCI x 2 dias
Enfermaria x 3 dias
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
209
(d) Tratamento mdico
Lavagem gstrica
A lavagem gstrica com soro fisiolgico gelado, outrora uma rotina, no tem efeito
benfico na hemostase e pode originar complicaes (diminuio do dbito cardaco,
prolongamento dos tempos de sangria e de protrombina). Se a finalidade limpar o
estmago como preparao do acto endoscpico, basta lavar com gua normal, no
gelada.
Agentes farmacolgicos
Na hemorragia por lcera pptica, tm sido utilizados vrios frmacos: anti-secreto-
res, vasoconstritores, antifibrinolticos.
Os inibidores H2 foram objecto de mltiplos ensaios clnicos, tendo-se apurado que
no possuem qualquer utilidade na jugulao do episdio hemorrgico ou na preven-
o de recidiva.
Nalguns ensaios teraputicos, o omeprazole iv revelou superioridade sobre o place-
bo, reduzindo as taxas de recorrncia, a necessidade de interveno cirrgica, a dura-
o mdia de hospitalizao e o nmero de transfuses. Deve ser administrado em
doses elevadas.
A somatostatina, ou o seu anlogo sinttico octretido -, assim como a vasopressi-
na e as prostaglandinas, no tm eficcia.
O cido tranexmico, um inibidor do plasminognio, foi abandonado por poder indu-
zir efeitos secundrios srios (enfarte cerebral, trombose venosa, embolia pulmonar).
Presentemente, tende a aceitar-se que os IBP, em infuso contnua, so a opo tera-
putica farmacolgica com melhores potencialidades.
Teraputica endoscpica
Dois estudos de meta-anlise envolvendo 25 e 30 ensaios prospectivos, apuraram que
a teraputica endoscpica em doentes com hemorragia no induzida por varizes eso-
fgicas, propiciou uma reduo relativa de 30% na mortalidade, uma reduo relativa
de 69% na incidncia de hemorragia persistente ou recidivante, e uma reduo rela-
tiva de 62% na necessidade de cirurgia de emergncia.
Os sub-grupos de doentes com lcera hemorrgica que colhem benefcios da hemos-
tase endoscpica, so os que apresentam estigmas major de alto risco no exame
endoscpico: hemorragia activa, vaso visvel e cogulo fresco. Nos doentes com estig-
mas minor, no necessria a teraputica endoscpica. Esta possui, alm disso, uma
oura vantagem: reduo significativa nos custos econmicos.
Existem actualmente vrios mtodos endoscpicos para a hemostase de leses no
varicosas, designadamente da lcera pptica. O objectivo a obliterao da artria
Doenas do Aparelho Digestivo
210
que rompeu na base da lcera. No quadro seguinte indicam-se as vrias opes tc-
nicas:
A teraputica endoscpica por injeco a mais barata e a mais simples na execu-
o. As solues que tm sido utilizadas so: epinefrina, esclerosantes, lcool abso-
luto, e produtos coagulantes (trombina humana ou fibrina), isoladamente ou em asso-
ciao. A experincia e os recursos locais tm ditado a seleco da melhor opo.
A teraputica endoscpica trmica, utilizando a electrocoagulao monopolar, bipolar
ou a sonda trmica, no se revelou superior teraputica por injeco. Tambm a coa-
gulao trmica por mtodos que eliminam o contacto com tecidos - Argon Plasma e
YAG-Laser -, no apresenta vantagens sobre a injeco, nos ensaios at agora realiza-
dos.
Os mtodos de teraputica mecnica hemoclips e laqueao elstica tm sido
ensaiados na lcera pptica e noutras leses no varicosas. Os resultados so bons,
ainda que no superiores s tcnicas mais convencionais, designadamente por injec-
o.
Alguns estudos recentes advogam a teraputica combinada: injeco + teraputica tr-
mica, designadamente com electrocoagulao multipolar. Seria mais benfica nomea-
damente nas hemorragias activas.
Em certos centros de referncia, propugna-se a realizao de um novo exame endos-
cpico second look endoscopy dentro de 24-48 horas aps a endoscopia inicial.
H trabalhos que evidenciam benefcio com esta estratgia, ao lado de outros que
no a recomendam. Esta metodologia estar provavelmente indicada nos doentes
com alto risco de recidiva hemorrgica, nomeadamente os que apresentam hemorra-
gia activa ou choque na admisso hospitalar. Tambm est indicada quando o gas-
trenterologista no tem a certeza de que o primeiro tratamento da lcera foi eficaz,
TERAPUTICA ENDOSCPICA
MTODOS DE HEMOSTASE EM LESES NO VARICOSAS
Mtodo Contacto com tecidos Sem contacto com tecidos
Mtodos trmicos activos Electrocoagulao Fotocoagulao Laser
Monopolar Argon Plasma
Multipolar Nd:YAG
Mtodos tpicos por injeco Escleroterpia Colas
Factores de coagulao
Teaputica combinada Injeco + trmicos
Mtodos mecnicos Laqueao elstica
Clips
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
211
por dificuldades tcnicas ou por m colaborao do doente.
Com as tcnicas endoscpicas actualmente disponveis, ainda ocorre uma taxa de reci-
diva de 15-20% aps o tratamento inicial. Em vrios ensaios realizados, verificou-se
que a repetio do tratamento endoscpico pode induzir a hemostase em cerca de
50% dos doentes. Advoga-se actualmente uma segunda tentativa de hemostase
endoscpica, quando ocorre recidiva hemorrgica.
Quando a teraputica mdica e endoscpica falham na jugulao da hemorragia, as
alternativas so a cirurgia ou a interveno angiogrfica.
As indicaes essenciais da cirurgia de urgncia so: (1) falncia no controlo da
hemorragia pela teraputica mdica e endoscpica; (2) recidiva severa aps duas ten-
tativas de hemostase endoscpica; (3) leso inacessvel endoscopia por cirurgia pr-
via, anomalia anatmica ou estenose pilrica; (4) choque severo obrigando a cirurgia
de emergncia para prevenir a exsanguinao; e (5) complicao sria da teraputica
endoscpica, designadamente perfurao.
A teraputica angiogrfica uma medida de ltimo recurso na hemorragia severa e
persistente, quando a cirurgia apresenta elevado risco e a teraputica endoscpica
ineficaz. til numa percentagem aprecivel de situaes, mas em cerca de metade
dos casos ocorre recidiva. Alm disso, pode ter complicaes graves.
Lograda a hemostase do processo ulcerativo, este deve ser submetido teraputica
mdica convencional, em funo da sua etiologia. No doente Hp-positivo, a erradica-
o da infeco fundamental para evitar a recorrncia hemorrgica a longo prazo.
B2 Estenose piloro-bulbar
Ocorre em menos de 5% dos doentes com lcera duodenal, e em menos de 1-2% de
doentes com lcera gstrica. Mais de 95% dos casos desta complicao ulcerosa
situam-se na rea piloro-bulbar.
No quadro seguinte apresenta-se, em esquema, a abordagem diagnstica e terapu-
tica desta complicao da lcera pptica:
Doenas do Aparelho Digestivo
212
B3 Perfurao
A incidncia desta complicao no se alterou nos ltimos 50 anos. Alis, estudos
recentes apontam para um possvel aumento da perfurao no doente idoso. Pelo
menos 10% apresentam esta complicao.
O tratamento da perfurao cirrgico. A escolha da melhor estratgia cirrgica deve
ser individualizada e depende dos seguintes factores: (1) localizao da lcera que
perfurou; (2) presena de choque; (3) comorbilidade associada; e (4) tempo estima-
do desde que ocorreu a perfurao e a contaminao peritoneal.
Diagnstico de presuno de obstruo piloro-bulbar
Dor
Nuseas e vmitos
Desequilbrio hidro-electroltico e cido-bsico
Histria de lcera pptica ou de complicaes
Sintomas
Internamento
Suco naso-gstrica
Inibio da secreo cida com IBP i.v.
Fluidoterapia i.v.
Correco do pH e do dfice do K
+
e CI
-
Nutrio parenteral se indicado
ABORDAGEM DA OBSTRUO PILORO-BULBAR POR LCERA PPTICA
Rpida resoluo
do resduo gstrico
Endoscopia com
bipsias e deteco
do Hp
Teraputica
mdica
Resoluo lenta
do resduo gstrico
TAC
Endoscopia
Descompresso
(3 - 5 dias)
Dilatao endoscpica
ou
Cirurgia
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
213
Doenas do Aparelho Digestivo
214
REFERNCIAS
Soll AH. Peptic ulcer and its complications. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH, eds. Gastrointestinal and Liver Disease.
W.B. Saunders Co. 1998:620-678.
Huang Q, Hunt RH. Treatment of acute gastric and duodenal ulcer. In: Wolfe MM, ed. Therapy of Digestive Disorders.
W.B. Saunders Co. 2000:113-126.
Wolfe MM. Therapy and prevention of NSAID-related gastrointestinal disorders. In: Wolfe MM, ed. Therapy of Digestive Disorders.
W.B. Saunders Co. 2000:96-112.
Lichtenstein DR. Management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage. In: Wolfe MM, ed. Therapy of Digestive Disorders.
W.B. Saunders Co. 2000:127-152.
Soybel DI. Gastric outlet obstruction, perforation and other complications of gastroduodenal ulcer. In: Wolfe MM, ed.
Therapy of Digestive Disorders. W.B. Saunders Co. 2000:153-168.
Laine L. Approaches to nonsteroidal antiinflammatory drug use in the high-risk patient. Gastroenterology 2001;120(3):594-606.
Kurata JH, Nogawa NA. Meta-analysis of risk factors for peptic ulcer. J Clin Gastroenterol 1997;24(1):2-17.
Graham DY. Helicobacter pylori infection in the pathogenesis of duodenal ulcer and gastric cancer: a model.
Gastroenterology 1997;113:1983-1991.
Tytgat GHJ. Duodenal ulcer disease. European J Gastroenterol & Hepatology 1996;8:29-833.
Hopkins RJ, Girardi LS, Turney EA. Relationship between Helicobacter pylori eradication and reduced duodenal and gastric ulcer recurrence:
a review. Gastroenterology 1996;110:1244-1252.
Hawkey CJ. COX-2 inhibitors. Lancet 1999;353:307-14.
Guerreiro AS. Doena ulcerosa duodenal. Tese de doutoramento, Lisboa 1989.
Romozinho JM. lcera duodenal-pH versus Hp. Arq. Hepato-Gastrenterol Port. 1992;1(6):209-214.
Simoens M, Rutgeerts P. Non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Best Pract & Res. Clin Gastroenterol 2001;15(1):121-134.
McCarthy DM. Prevention and treatment of gastrointestinal symptoms and complications due to NSAIDs. Best Pract & Res Clin
Gastroenterology 2001;15(5):755-774.
Hawkey CJ. COX-1 and COX-2 inhibitors. Best Pract & Res Clin Gastroenterol 2001;15(5):801-20.
Freitas D, Donato A, Monteiro JG. Controlled trial of liquid monopolar electrocoagulation in bleeding peptic ulcers.
Am J Gastroenterol 1985;80(11):853-857.
Freitas D, Sofia C. Tratamento das hemorragias digestivas agudas por lcera pptica. Arq Hepato-Gastrenterol. Port1995;4(3):197-205.
Freitas D, Leito MC (Eds). Endoscopia digestiva. Mtodos de diagnstico e teraputica em Gastrenterologia. Permanyer Portugal 1994.
Freitas D, Sofia C (Eds). Hemorragias digestivas altas. Permanyer Portugal 1997.
Portela F, Gregrio C, Freitas D et al. Injeco versus injeco mais omeprazole no tratamento da hemorragia aguda por lcera pptica.
Arq. Hepato-Gastrenterol. Port. 1994;3:9-12.
Romozinho M, Amaro P, Freitas D et al. Avaliao de um score numrico de risco na lcera pptica sangrante tratada numa Unidade de
Cuidados Intensivos de Gastrenterologia. GE J Port. Gastrenterol 1999;6:94-100.
Sofia C, Portela F, Freitas D et al. Endoscopic injection therapy vs multipolar electrocoagulation vs laser vs injection + octreotide vs injection
+ omeprazole in the treatment of bleeding peptic ulcers. A prospective randomized study. Hepato-gastroenterology 2000;47:1332-1336.
Peixe GR. lcera gstrica experimental Contribuio para o estudo do factor vascular. Tese de doutoramento. Lisboa 1984.
Hawkey CJ, Yeomans ND (Eds). Evolving strategies for managing nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated ulcers. Am J Med 1998, vol
104(3A).
The management of acid-related disorders: clinical practice and therapeutic procedures. Am J Gasroenterol 1997;92(4): Suppl.
Acid secretory disorders: burning issues and hot topics. Am J Gastroenterol 1999;94(11):Suppl.
McColl KEL (Ed). Indications for and consequences of inhibition of acid secretion. Best Pract & Res Clin Gastroenterol 2001;15(3).
van Leerdam ME, Rauws EA. The role of acid suppressants in upper gastrointestinal ulcer bleeding.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Jun;15(3):463-75.
Howden CW, Leontiadis GI. Current indications for acid suppressants in Helicobacter pylori -negative ulcer disease.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Jun;15(3):401-12.
Zimmermann AE, Walters JK, Katona BG, Souney PE, Levine D. A review of omeprazole use in the treatment of acid-related disorders in chil-
dren. Clin Ther. 2001 May;23(5):660-79; discussion 645.
Kubba AK, Selby NM, Hawkey CJ. Update in the pharmacological management of peptic ulcer haemorrhage.
Scand J Gastroenterol. 2001 Apr;36(4):337-42.
de Boer WA, Tytgat GN. Search and treat strategy to eliminate Helicobacter pylori associated ulcer disease. Gut. 2001 Apr;48(4):567-70.
Geus WP. Are there indications for intravenous acid-inhibition in the prevention and treatment of upper GI bleeding?
Scand J Gastroenterol Suppl. 2000;(232):10-20.
Aabakken L. Nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Endoscopy. 2001 Jan;33(1):16-23.
Thitiphuree S, Talley NJ. Esomeprazole, a new proton pump inhibitor: pharmacological characteristics and clinical efficacy.
Int J Clin Pract. 2000 Oct;54(8):537-41.
Yeomans ND, Garas G, Hawkey CJ. The nonsteroidal anti-inflammatory drugs controversy. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):791-805.
Cohen H. Peptic ulcer and Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):775-89.
Hawkey CJ, Lanas AI. Doubt and certainty about nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the year 2000: a multidisciplinary expert statement.
Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):79S-100S.
Graham DY. Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs: interaction with proton pump inhibitor therapy for prevention of
nonsteroidal anti-inflammatory drug ulcers and ulcer complicationsfuture research needs. Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):58S-61S.
Chan FK, Hawkey CJ, Lanas AI. Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs: a three-way debate.
Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):55S-57S.
Sung JJ. Management of nonsteroidal anti-inflammatory drug-related peptic ulcer bleeding. Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):29S-32S
Yeomans ND. Approaches to healing and prophylaxis of nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated ulcers.
Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):24S-28S.
Wallace JL. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the gastrointestinal tract. Mechanisms of protection and healing: current knowledge
and future research. Am J Med. 2001 Jan 8;110(1A):19S-23S.
Cappell MS, Schein JR. Diagnosis and treatment of nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated upper gastrointestinal toxicity.
Gastroenterol Clin North Am. 2000 Mar;29(1):97-124.
Sachs G, Shin JM, Munson K, et al. Review article: the control of gastric acid and Helicobacter pylori eradication.
ESTMAGO E DUODENO - lcera Pptica
215
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Nov;14(11):1383-401.
Egan LJ, Murray JA. New perspectives in gastric acid suppression: genetic polymorphisms predict the efficacy of proton pump inhibitors.
Dig Dis. 2000;18(2):58-63.
Misciagna G, Cisternino AM, Freudenheim J. Diet and duodenal ulcer. Dig Liver Dis. 2000 Aug-Sep;32(6):468-72.
Barr M, Buckley M, OMorain C. Review article: non-steroidal anti-inflammatory drugs and Helicobacter pylori.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14 Suppl 3:43-7.
Goldstein JL. Significant upper gastrointestinal events associated with conventional NSAID versus celecoxib. J Rheumatol Suppl. 2000 Oct;60:25-8.
McColl KE, el-Omar E, Gillen D. Helicobacter pylori gastritis and gastric physiology. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):687-703.
Go MF, Crowe SE. Virulence and pathogenicity of Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):649-70.
Pohle T, Domschke W. Results of short-and long-term medical treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD).
Langenbecks Arch Surg. 2000 Aug;385(5):317-23.
Ernst PB, Gold BD. The disease spectrum of Helicobacter pylori: the immunopathogenesis of gastroduodenal ulcer and gastric cancer.
Annu Rev Microbiol. 2000;54:615-40.
Kauffman GL Jr. Duodenal ulcer disease: treatment by surgery, antibiotics, or both. Adv Surg. 2000;34:121-35.
Gostout CJ. Do we need more technology to reduce recurrence of bleeding from ulcers? Gastrointest Endosc. 2000 Sep;52(3):438-40.
Parasher G, Eastwood GL. Smoking and peptic ulcer in the Helicobacter pylori era. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Aug;12(8):843-53.
Lau JY, Chung SC. Surgery in the acute management of bleeding peptic ulcer. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Jun;14(3):505-
18.
Hepworth CC, Swain CP. Mechanical endoscopic methods of haemostasis for bleeding peptic ulcers: a review.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Jun;14(3):467-76.
Machicado GA, Jensen DM. Thermal probes alone or with epinephrine for the endoscopic haemostasis of ulcer haemorrhage.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Jun;14(3):443-58.
Rollhauser C, Fleischer DE. Current status of endoscopic therapy for ulcer bleeding. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol.
2000 Jun;14(3):391-410.
Langman MJ. Drug treatment of non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Jun;14(3):357-64.
Stedman CA, Barclay ML. Review article: comparison of the pharmacokinetics, acid suppression and efficacy of proton pump inhibitors.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Aug;14(8):963-78.
Hawkey CJ. Nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropathy. Gastroenterology. 2000 Aug;119(2):521-35.
Wolfe MM, Sachs G. Acid suppression: optimizing therapy for gastroduodenal ulcer healing, gastroesophageal reflux disease, and stress-
related erosive syndrome. Gastroenterology. 2000 Feb;118(2 Suppl 1):S9-31.
Graham DY, Yamaoka Y. Disease-specific Helicobacter pylori virulence factors: the unfulfilled promise. Helicobacter. 2000;5 Suppl 1:S3-9; dis-
cussion S27-31.
Martinez-Serna T, Tercero F Jr, Filipi CJ, et al. Symptom priority ranking in the care of gastroesophageal reflux: a review of 1,850 cases. Dig
Dis. 1999;17(4):219-24.
Hawkey CJ. Management of gastroduodenal ulcers caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):173-92.
Chan FK, Sung JJ. How does Helicobacter pylori infection interact with non-steroidal anti-inflammatory drugs? Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):161-72.
Wallace JL. How do NSAIDs cause ulcer disease? Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):147-59.
Labenz J. Consequences of Helicobacter pylori cure in ulcer patients. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):133-45.
Malfertheiner P, Leodolter A, Peitz U. Cure of Helicobacter pylori-associated ulcer disease through eradication. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):119-32.
Peura DA. The problem of Helicobacter pylori-negative idiopathic ulcer disease. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):109-17.
Dore MP, Graham DY. Pathogenesis of duodenal ulcer disease: the rest of the story. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000
Feb;14(1):97-107.
Dohil R, Hassall E. Peptic ulcer disease in children. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):53-73.
Lam SK. Differences in peptic ulcer between East and West. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):41-52.
Dixon MF. Patterns of inflammation linked to ulcer disease. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):27-40.
McColl KE, Gillen D, El-Omar E. The role of gastrin in ulcer pathogenesis. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):13-26.
Olbe L, Fandriks L, Hamlet A, Svennerholm AM. Conceivable mechanisms by which Helicobacter pylori provokes duodenal ulcer disease.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Feb;14(1):1-12.
Palmer KR. Ulcers and nonvariceal bleeding. Endoscopy. 2000 Feb;32(2):118-23.
Tytgat GN. Ulcers and gastritis. Endoscopy. 2000 Feb;32(2):108-17.
Jamieson GG. Current status of indications for surgery in peptic ulcer disease. World J Surg. 2000 Mar;24(3):256-8.
Bustamante M, Stollman N. The efficacy of proton-pump inhibitors in acute ulcer bleeding: a qualitative review. J Clin Gastroenterol.
2000 Jan;30(1):7-13.
McCarthy DM. Comparative toxicity of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Am J Med. 1999 Dec 13;107(6A):37S-46S; discussion 46S-47S.
Earnest DL, Robinson M. Treatment advances in acid secretory disorders: the promise of rapid symptom relief with disease resolution.
Am J Gastroenterol. 1999 Nov;94(11 Suppl):S17-24.
Dent J. Helicobacter pylori and reflux disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Aug;11 Suppl 2:S51-7; discussion S73.
de Boer WA, Joosen EA. Disease management in ulcer disease. Scand J Gastroenterol Suppl. 1999;230:23-8.
Raskin JB. Gastrointestinal effects of nonsteroidal anti-inflammatory therapy. Am J Med. 1999 May 31;106(5B):3S-12S.
+Hawkey CJ. Personal review: Helicobacter pylori, NSAIDs and cognitive dissonance. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Jun;13(6):695-702.
+Simoens M, Gevers AM, Rutgeerts P. Endoscopic therapy for upper gastrointestinal hemorrhage: a state of the art.
Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr;46(26):737-45.
+Kohler B, Riemann JF. The role of endoscopic Doppler-sonography. Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr;46(26):732-6.
Shafi MA, Fleischer DE. Risk factors of acute ulcer bleeding. Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr;46(26):727-31.
Van Zanten SJ, Dixon MF, Lee A. The gastric transitional zones: neglected links between gastroduodenal pathology and helicobacter ecolo-
gy. Gastroenterology. 1999 May;116(5):1217-29.
Meier R, Wettstein AR. Treatment of acute nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage. Digestion. 1999;60 Suppl 2:47-52.
Bastaki SM, Wallace JL. Pathogenesis of nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropathy: clues to preventative therapy.
Can J Gastroenterol. 1999 Mar;13(2):123-7.
Tenenbaum J. The epidemiology of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Can J Gastroenterol. 1999 Mar;13(2):119-22.
Rollhauser C, Fleischer DE. Ulcers and nonvariceal bleeding. Endoscopy. 1999 Jan;31(1):17-25.
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
215
SECO II - ESTMAGO E DUODENO
CAPTULO IX
TUMORES DO ESTMAGO
1. Tumores Malignos
Carcinoma
Linfoma
2. Plipos Gstricos
215
Doenas do Aparelho Digestivo
1. TUMORES MALIGNOS
A. CANCRO GSTRICO
Os carcinomas compreendem a maioria (90-95%) dos tumores malignos do estma-
go.
Continua a ser, designadamente para autores japoneses, a primeira causa de morte
por cancro a nvel mundial, com incidncia particularmente elevada no leste da
Europa, China, Japo e Amrica do Sul.
Em vrias zonas do globo, nomeadamente nos Estados Unidos da Amrica, testemu-
nhou-se uma diminuio na incidncia, provavelmente resultante de alteraes
ambientais, designadamente na dieta e nutrio.
A maioria dos cancros gstricos so detectados em fase avanada, pelo que a sobre-
vida aos 5 anos baixa, na escala de 10-15%. O cancro gstrico precoce, isto , o car-
cinoma limitado mucosa ou submucosa, independentemente da situao dos gn-
glios perigstricos, confere uma sobrevida de 90-95%, segundo a literatura japonesa.
1 Epidemiologia
Estimativas a nvel mundial indicam que ocorrem cerca de 670.000 novos casos por
ano. A incidncia e a mortalidade em muitos pases industrializados decresceram de
forma notvel nas ltimas dcadas, pelo que existem actualmente grandes variaes
geogrficas.
Na Costa Rica, a taxa de mortalidade ajustada idade situa-se entre 51-60/100.000
habitantes; na China, Japo, Chile e Rssia, entre 31-40; na Polnia, Hungria, Equador
e Portugal, entre 21-30; no Reino Unido, Itlia, Noruega, Alemanha, Espanha, Argentina
e Venezuela, entre 11-20; e na USA, Cuba, Canad, Frana, Suia e Sucia, entre 1-10.
Estas variaes na incidncia acentuam a importncia de factores do ambiente na
gnese do cancro gstrico.
O cancro gstrico mais comum no sexo masculino, embora essa diferena se atenue
nos tumores que ocorrem em jvens ou no idoso. A incidncia de cancro aumenta com
a idade, evidenciando uma subida ntida a partir dos 50 anos. A idade mdia do diag-
nstico de 63 anos na USA, e de 55 no Japo.
Se a pesquisa epidemiolgica no forneceu, at agora, resultados consistentes relati-
vamente a factores de risco associados ao cancro gstrico, houve maiores progressos
na investigao experimental, designadamente com a descoberta do papel cancerge-
no de compostos nitrosados.
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
217
A classificao de Lauren do cancro gstrico descreve dois tipos histolgicos: intesti-
nal e difuso. O tipo intestinal tem origem na transformao maligna de epitlio gs-
trico metaplsico, melhor diferenciado e est fortemente associado a evidncia his-
tolgica de agresso crnica da mucosa. o tipo de cancro mais frequente nas zonas
de elevado risco, estando provavelmente ligado a factores do ambiente (dieta). a
chamada forma epidmica de cancro gstrico. O tipo difuso provm de clulas muco-
sas nativas gstricas, mal diferenciado, est menos frequentemente associado a
agresso da mucosa e mais comum em populaes de baixo risco. Aparentemente
no se relaciona com factores do ambiente, parecendo existir uma predisposio
gentica. Ocorre em idade mais jovem, no manifesta preponderncia pelo sexo mas-
culino, e igualmente frequente em todo o mundo. a chamada forma endmica de
cancro gstrico.
Nalguns pases, como a USA, assiste-se a uma diminuio na incidncia do cancro gs-
trico predominantemente do tipo intestinal, mas em contrapartida observa-se um
aumento dos cancros da zona crdica, com caractersticas muito semelhantes ao ade-
nocarcinoma do epitlio de Barrett.
2 Etiologia
Numa perspectiva mundial, ainda no foi consistentemente identificado um padro de
factores de risco para o cancro gstrico. provvel que a chave da patognese deste
tumor se localize no microambiente gstrico, e que factores dietticos, a secreo gs-
trica e a prpria mucosa do estmago desempenhem um papel nesta cadeia patog-
nica. O consumo decrescente de alimentos conservados e de sal, a crescente dispo-
nibilidade em frutas e vegetais, e a ampla utilizao da refrigerao, reduzindo as con-
taminaes bacterianas e fngicas dos alimentos frescos, oferecem a melhor explica-
o para a diminuio do cancro gstrico no mundo.
Ao falar-se na etiologia do cancro gstrico, devem ser considerados e analisados os
seguintes factores:
Factores do ambiente
Os factores dietticos representam a maior ameaa para a homeostasia da mucosa
gstrica. O homem est exposto a compostos N-nitrosos e a produtos que os origi-
nam na cavidade gstrica, por aco de bactrias e de macrfagos. Nitratos e aminas,
ingeridos na dieta normal, so transformados, no meio cido do estmago, em com-
postos nitrosados. Nos estmagos aclordricos, bactrias redutoras dos nitratos cata-
lisam a formao desses compostos.
Correa et al., propuseram uma via para a induo e promoo do cancro gstrico, que
implica a formao endgena de compostos nitrosados em estmagos aclordricos.
Demonstraram que a gastrite crnica, ao volver-se atrfica, era um factor de risco do
Doenas do Aparelho Digestivo
218
cancro gstrico. A perda da acidez normal, era seguida da colonizao bacteriana e da
reduo intragstrica de nitratos em nitritos. Estes, por sua vez, eram transformados
em produtos nitrosados carcinognicos. A progresso da gastrite atrfica para meta-
plasia intestinal completa, metaplasia incompleta, displasia ligeira, displasia severa e
carcinoma, completariam a sequncia de eventos.
Outros elementos da dieta tm sido incriminados como factores de risco na induo
do cancro: consumo elevado de alimentos fumados, salgados ou conservados em ms
condies, que aumentariam a concentrao de nitrosaminas e de aminas aromticas
policclicas no estmago. Por outro lado, o consumo de vegetais, frutas, sumos de
citrinos, fibra e leite, e a refrigerao, constituiriam factores de proteco. O tabagis-
mo e o elevado consumo de lcool representariam igualmente possveis factores de
risco.
Gentica
Vrios estudos indicam que, alm dos factores ambientais, os factores hereditrios
poderiam tambm jogar um papel importante na cancerognese gstrica. H vrios
dados que evidenciam a influncia de factores familiares:
(1) Histria familiar de cancro gstrico em 10-15% dos casos;
(2) Risco elevado (2-3x) nos familiares de 1 grau;
(3) Grupo sanguneo A mais comum no cancro gstrico;
(4) O cancro gstrico tipo difuso associa-se a idade jvem (<40 anos), grupo san-
guneo A, sem prevalncia de sexo e de mau prognstico;
(5) O cancro gstrico comum na sindrome de Lynch tipo II;
(6) Referncias a famlias com cancro gstrico ao longo de geraes;
(7) Referncia ocorrncia quase simultnea de cancro gstrico em gmeos mono-
zigticos.
Vrios estudos tm evidenciado a existncia de anomalias genticas no cancro gstri-
co. Algumas delas, so semelhantes s detectadas no cancro colo-rectal. Segundo tra-
balhos da escola japonesa, essas alteraes seriam divergentes nos tipos intestinal e
difuso do cancro gstrico, indicando que eventualmente tero vias patognicas dife-
rentes. No quadro seguinte, apontam-se as alteraes genticas at agora detectadas
no cancro gstrico, segundo Tahara et al:
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
219
Infeco H. pylori
A inflamao crnica e a atrofia gstrica so consideradas leses precursoras do can-
cro gstrico. A infeco Hp a causa mais comum de gastrite crnica. Deste modo,
esta infeco tem sido implicada na gnese do carcinoma, como factor muito impor-
tante. Em vrios estudos epidemiolgicos, foi evidenciada uma associao positiva
entre a infeco Hp e o cancro gstrico, apurando-se um aumento de risco entre 2.8
6.1 nos indivduos infectados. Em consequncia destes dados epidemiolgicos, a
OMS categorizou o H. pylori como carcinognio da classe 1.
Uma anlise rigorosa da evidncia clinica e epidemiolgica na relao causal entre
esta infeco e o cancro gstrico, indica que a carcinogenicidade da infeco Hp dife-
re entre as populaes. Basta lembrar o chamado enigma africano, caracterizado pelo
facto de existirem na maioria dos pases deste continente taxas de prevalncia da
infeco Hp muito elevadas, sendo no entanto baixa a frequncia de cancro gstrico.
E recorde-se tambm que os doentes com lcera duodenal por infeco Hp, tm um
baixo risco de cancerizao do estmago.
Desconhecem-se as razes que originam o desenvolvimento de quadros de gastrite
atrfica e de metaplasia em determinadas populaes de indivduos, e noutras no.
Seguindo o modelo de causalidade proposto por Rothman, tem sido postulado que o
H. pylori um membro da constelao de factores (incompletas causas) que con-
Doenas do Aparelho Digestivo
220
Instabilidade gentica 45 32
Actividade da telomerase 100 90
K-ras (mutao) 9 -
C-met
Amplificao 19 39
6.0 Kb mRNA 50 82
K-sam (amplificao) - 33
C-erb B-2 (amplificao) 20 -
Bcl-2 (LOH)* 43 -
Ciclina E (amplificao) 33 7
TP 53 (LOH, mutao) 60 76
APC (LOH, mutao) 40 60 -
DCC (LOH) 50 -
Cadherina (mutao) - 50
CD 44 (transcrio anormal) 100 100
LOH de 1p 25 38
LOH de 19 44 -
LOH de 79 53 33
ALTERAES GENTICAS NO CANCRO GSTRICO
Genes (alteraes) Tipo intestinal % Tipo difuso%
* Perda de heterozigotia
juntamente constituem uma completa causa.
Pelayo Correa et al., postulam um modelo hipottico de vrias vias aps infeco pelo
H. pylori, sendo no entanto desconhecidos ou mal esclarecidos os factores que modu-
lam esses eventos, esquematizados no quadro seguinte:
Esta consagrada teoria de Pelayo Correa, tem sido bem acolhida e constitui actual-
mente o modelo mais divulgado no tocante gnese do carcinoma tipo intestinal,
onde o H. pylori teria um papel predominante, no s na iniciao do processo de
gastrite crnica, mas tambm no desenvolvimento sequencial das alteraes fenotpi-
cas da mucosa gstrica, de acordo com o esquema seguinte:
INFECO H.P.
Atrofia GAM
MI
PMN
proeminente
MALT
proeminente
Sem sintomas
Infiltrao celular
MALT PMN
UD
GAD Linfoma
Cancro
Displasia UG
MALT - Mucosa-associated lymphoid tissue
GAD - Gastrite antral difusa
GAM - Gastrite atrfica multifocal
MI - Metaplasia intestinal
PMN - Polimorfonucleares
A
B C
?
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
221
A teoria de Pelayo Correa, uma hiptese explicativa sobretudo do carcinoma de tipo
intestinal, alis o mais prevalente nas reas de alto risco, mas no esclarece relativa-
mente gnese do carcinoma difuso, que no obedece a esta sequncia de alteraes
fenotpicas da mucosa gstrica. Enquanto que no carcinoma de tipo intestinal prevale-
cem, aparentemente, como factores etiolgicos dominantes, a infeco por H. pylori e
os factores ambientais, no carcinoma de tipo difuso encaram-se outras possveis vias de
malignizao, e seriam aqui mais relevantes os factores de ordem gentica.
Tendo em considerao a experincia cientfica que se foi acumulando nos ltimos
anos, possvel considerar actualmente um conjunto de factores de risco de canceri-
zao do estmago, que poderamos elencar da seguinte forma, por ordem decres-
cente da evidncia cientifica:
Sal na dieta
Tabagismo
Vit. C na dieta
H. pylori
NH4+
Radicais livres
Proliferao bacteriana
N-nitrosaminas
Proliferao celular
Vit. C no suco gstrico
H. pylori
Normal
Gastrite superficial
Gastrite atrfica
Metaplasia intestinal
Displasia
Cancro
Doenas do Aparelho Digestivo
222
Evidncia indiscutvel
Infeco por H. pylori
Gastrite atrfica
Metaplasia intestinal
Displasia
Adenoma gstrico
Barrett (cancro do crdia)
Polipose adenomatosa familiar
Sindrome de Lynch II
Evidncia provvel
Gastrectomia parcial (>20 anos)
Anemia perniciosa
FACTORES DE RISCO DO ADENOCARCINOMA GSTRICO
COMENTRIOS
Ao analisarmos os factores de risco acima considerados, devemos distinguir entre con-
dies pr-malignas e leses pr-malignas. As primeiras, so situaes clnicas, ou cli-
nico-patolgicas, que se associam a um aumento do risco de desenvolvimento do can-
cro gstrico. So, por isso, indicadores de risco. Por exemplo, a gastrite atrfica, a
metaplasia intestinal e o estado ps-gastrectomia, so condies de risco. As leses
pr-malignas, so precursoras lesionais de carcinoma. No estmago, a leso pr-
maligna essencial a displasia, onde se inclui o adenoma, e que deve ser encarada
como uma leso inequivocamente neoplsica, embora ainda benigna enquanto no
invasora ou metastizante.
Do ponto de vista prtico, importante saber se existe displasia e proceder sua gra-
duao. Para este efeito, uma das propostas de classificao da displasia a que foi
consagrada em Pdua, em 1998, sumarizada da seguinte forma:
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
223
Evidncia possvel
Sindrome de Peutz-Jeghers
Doena de Mntrier
Hamartomas
Tabagismo
Sal, pickles e alimentos fumados ou mal conservados
Baixo consumo de vegetais e frutos
Consumo elevado de lcool
Evidncia questionvel
Plipos hiperplsicos
Plipos das glndulas fndicas
lcera gstrica benigna
DISPLASIA GSTRICA CLASSIFICAO DE PDUA (1998)
1. Negativo para displasia
1.0 Normal
1.1 Hiperplasia reactiva foveolar
1.2 Metaplasia intestinal (MI)
1.2.1 MI tipo completo (intestino delgado)
1.2.2 MI tipo incompleto (clico)
2. Indefinido para displasia
2.1 Hiperproliferao foveolar
2.2 MI hiperproliferativa
3. Neoplasia no invasiva
3.1 Baixo grau
3.2 Alto grau
3.2.1 Incluindo suspeita de carcinoma sem invaso (intraglandular)
3.2.2 Incluindo carcinoma sem invaso (intraglandular)
4. Suspeita de carcinoma invasivo
5. Adenocarcinoma invasivo
3 Manifestaes Clnicas
Os sintomas e sinais de cancro do estmago so inespecficos e usualmente surgem
em fases no iniciais do processo. De facto, tendo em conta a experincia japonesa,
em 80% dos casos os cancros precoces so assintomticos.
No quadro seguinte anotam-se os sinais e sintomas do cancro gstrico, nas suas for-
mas precoce e avanada:
Doenas do Aparelho Digestivo
224
COMENTRIOS
Muitos doentes que potencialmente tm um cancro gstrico no consultam o seu cl-
nico assistente quando o quadro dispptico que apresentam no muito incmodo.
Alm disso, muitos clnicos prescrevem anti-secretores nessas situaes, no convenci-
mento de que o doente ter um quadro de dispepsia funcional. Alis, essa prtica
pode inclusiv melhorar os padecimentos do doente, pois est demonstrado que mui-
tos cancros ulcerados cicatrizam transitriamente. Estas razes explicam, em parte, o
atraso no diagnstico do cancro gstrico.
Ocasionalmente o doente com adenocarcinoma gstrico pode apresentar situaes
paraneoplsicas: sindrome de Trousseau (trombose), acanthosis nigricans, nefropatia
membranosa, anemia hemoltica, sinal de Leser-Trlat (queratose seborreica) e derma-
tomiosite.
Assintomtico 80% Perda de peso 60%
Sintomas de lcera pptica 10% Dor abdominal 50%
Nuseas e vmitos 8% Nuseas e vmitos 30%
Anorexia 8% Anorexia 30%
Saciedade precoce 5% Disfagia 25%
Dor abdominal 2% Hemorragia digestiva 20%
Hemorragia digestiva < 2% Saciedade precoce 20%
Perda de peso < 2% Sintomas de lcera pptica 20%
Disfagia < 1% Massa abdominal 5%
Assintomtico <5%
DURAO DOS SINTOMAS
< 3 meses 40%
3 12 meses 40%
> 12 meses 20%
CANCRO DO ESTMAGO SINTOMAS E SINAIS
CANCRO INICIAL CANCRO AVANADO
Nas formas avanadas de cancro gstrico, cerca de 90% dos doentes tm extenso
regional do processo, e em cerca de 50% dos casos h disseminao a distncia. A
extenso regional pode ocorrer na juno esofagogstrica, na zona pilrica com obs-
truo, no envolvimento do pncreas, bao, mesentrio, clon transverso e ndulos
linfticos regionais. A metastizao ocorre em cerca de 50% dos casos para o pulmo
e fgado, e em 10% para o esqueleto e peritoneu. Neste caso, surge muitas vezes asci-
te. Outras metastizaes a distncia: fundo do saco de Douglas (sinal de Blumer), ov-
rio (tumor de Krukenberg), umbigo (ndulo de Sister Mary Joseph), zona axilar esquer-
da (ndulo de Irish), regio supraclavicular (ndulo de Virchow) e crebro.
4 Diagnstico
O exame endoscpico o mtodo de eleio no diagnstico do carcinoma gstrico.
Infelizmente a maioria dos tumores so detectados em fase avanada. Um gastrente-
rologista experiente facilmente identifica estes processos, e confirma o diagnstico
mediante o obteno de vrias bipsias e, quando possvel, com citologia. A acuida-
de do diagnstico nas formas correntes de carcinoma, utilizando a endoscopia com
bipsias, atinge 96% na sensibilidade e 99% na especificidade. O exame radiolgico
com duplo contraste no tem essa capacidade diagnstica, tendo sido ultrapassado
de forma incontroversa pela endoscopia.
O carcinoma inicial tem uma expresso endoscpica muitas vezes aparentemente ino-
fensiva, requerendo grande experincia e precauo da parte de quem executa o
exame. Em casos de dvida, obrigatria a obteno de bipsias.
Nos pases ocidentais, incluindo Portugal, a estratgia de diagnstico envolve o
exame endoscpico como gold standard. Infelizmente, a taxa de deteco de carci-
nomas iniciais, manifestamente baixa, situando-se entre 6-15%, conforme as sries
publicadas. No Japo, pas causticado por uma das maiores incidncias mundiais de
cancro gstrico, utiliza-se, desde 1960, o rastreio populacional gratuito, nos indivduos
assintomticos com idade superior a 40 anos. Esse rastreio, que utiliza metodologias
vrias (gastrocmaras, Rx com duplo contraste, fibroendoscopia), teve um impacto
muito favorvel, na medida em que a percentagem de carcinomas iniciais detectados
muito superior dos pases ocidentais, atingindo algumas sries valores entre 50-
63%. Como bvio, a taxa de sobrevida ao cabo de 5 anos muito superior tes-
temunhada no mundo ocidental.
Em pases, como Portugal, onde a incidncia de cancro bastante inferior do Japo,
a implantao de uma poltica de rastreio semelhante deste pas impraticvel, em
termos de custo-beneficio.
Se o rastreio impraticvel, que outras medidas devem ser recomendadas no senti-
do de procurar diagnosticar o cancro gstrico em fase precoce? Certamente que devem
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
225
ser objecto de vigilncia cuidada as situaes onde maior o risco de se desenvol-
ver ou de se encontrar o cancro. Entre essas situaes so tradicionalmente aponta-
das:
- Dispepsia em doentes com idade > 40 anos
- Gastrectomia h mais de 15-20 anos
- Anemia perniciosa
- Histria familiar de cancro gstrico
- Histria de adenoma gstrico
Quanto gastrite crnica atrfica e metaplasia intestinal, a opinio actualmente
aceite a de que no justificam vigilncia em termos de custo/benefcio. Recorde-se
que a prevalncia de gastrite atrfica de 20% na populao global, e de 40% nos
indivduos com mais de 60 anos de idade. Quanto metaplasia, pode ser de vrios
tipos, e frequente a sua ocorrncia simultnea no mesmo estmago. A sua detec-
o e vigilncia exige um nmero muito elevado de bipsias.
Relativamente displasia, no tem infelizmente uma expresso endoscpica distinta.
possvel que os avanos tecnolgicos no campo da endoscopia digestiva consigam
facilitar a deteco desta leso pr-maligna. Estudos prospectivos indicam que a dis-
plasia de baixo grau pode reverter em 60% dos doentes, sendo a progresso para
displasia moderada de 10%. Esta, por sua vez, progride para formas severas em
menos de 10% dos casos. Discute-se, por isso, se estas formas de displasia devem
ser objecto de vigilncia especial. Quanto displasia de alto grau, surge em cerca de
1% dos doentes sintomticos submetidos a bipsia endoscpica, raramente regride e
comum a progresso para o cancro (25-80%). Estas formas de displasia de alto grau
devem ser objecto de uma vigilncia rigorosa, com bipsias mltiplas. A mucosecto-
mia endoscpica ou a sano cirrgica so frequentemente solicitadas no seu trata-
mento.
5 Estadiamento
Um dos mais importantes factores que determinam a ressecabilidade cirrgica curati-
va do cancro do estmago, e o seu prognstico, o grau de progresso clinico-pato-
lgica. Existem vrios sistemas internacionais de estadiamento dos tumores malignos.
No cancro gstrico, muito usual utilizar a classificao TNM, em que T indica a pro-
fundidade da invaso tumoral, N denota a presena ou ausncia de envolvimento dos
gnglios linfticos e M indica a presena ou ausncia de metstases. A classificao
TNM considera os seguintes graus:
Doenas do Aparelho Digestivo
226
Tis Carcinoma in situ ou intraepitelial
T1 Envolvimento limitado mucosa ou submucosa
T2 Envolvimento da muscularis propria
T3 Envolvimento da serosa
T4 Envolvimento de orgos ou estruturas adjacentes
N0 Ausncia de envolvimento ganglionar
N1 Envolvimento de gnglios dentro de 3 cm dos limites tumorais
N2 Envolvimento ganglionar > 3 cm dos limites do tumor, potencialmente res-
secvel
N3 Envolvimento de gnglios mais distantes, dificilmente ressecveis (para-ar-
ticos, mesentricos, retropancreticos)
M0 Ausncia de metstases
M1 Metstases a distncia
Tendo em conta estes trs parmetros e a respectiva graduao, a classificao TNM
define cinco estdios clnicos 0 a IV , que podem ser agrupados no seguinte dia-
grama:
Nos pases ocidentais, cerca de 2/3 dos doentes esto nos estadios III ou IV na altu-
ra do diagnstico. Os restantes encontram-se nos estadios I e II. Relativamente
sobrevida ao cabo de 5 anos, as percentagens aproximadas so:
Mo
No N1 N3 N2
Mo
Mo
M1
Tis
T1
T2
T4
T3
0
I A
I B
II
III A
IV IV IV IV IV
IV
IV
IV
IV IV
IV
IV
IV
IV III B
III A
III A
III B
II
II
I B
- - - -
Estadio Classificao
E
s
t
a
d
i
o
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
o
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
227
Aps confirmao de cancro gstrico pela endoscopia com bipsias, deve pesquisar-
se a existncia de metstases a distncia pelo exame clinico, Rx do trax e testes de
funo heptica. Se h suspeita de metstases pulmonares ou hepticas, devem ser
confirmadas por bipsia dirigida, broncoscopia ou laparoscopia.
Se o exame clnico de rotina e os testes laboratoriais no indicam a presena de
metstases, deve solicitar-se a realizao de uma tomografia computorizada toraco-
abdominal.
Este exame tem pouca preciso na definio da profundidade da invaso tumoral, do
envolvimento ganglionar e da extenso loco-regional, particularmente no pncreas e
nas zonas sub-diafragmticas. Pode afirmar-se que a tomografia computorizada tem
muito valor na deteco de metstases a distncia (at 90% de apuro), mas falha no
estadiamento loco-regional (65% dos tumores so imprecisamente estadiados, ou por
defeito (50%), ou em 15% por excesso). Por isso, este exame no deve ser a nica
modalidade de estadiamento, se o doente candidato a resseco curativa.
A ecografia endoscpica um outro exame de muito valor no estadiamento do can-
cro gstrico. Pode facultar percentagens de acuidade de 90% na definio da profun-
didade da invaso tumoral, diferenciando desse modo tumores em fase precoce e em
estadios avanados. Por outro lado, permite a deteco do envolvimento ganglionar
perigstrico, e a definio de adenocarcinomas que invadem sobretudo as tnicas pro-
fundas, onde muitas vezes a bipsia endoscpica negativa. Sem ser um mtodo
infalvel, a ecografia endoscpica complementa excelentemente a tomografia compu-
torizada no estadiamento do cancro gstrico.
6 Prognstico
A classificao TNM e o estadiamento do cancro gstrico por tomografia computoriza-
da e ecografia endoscpica, constituem actualmente o melhor indicador de progns-
tico.
No quadro seguinte, indicam-se os factores que favorecem um bom prognstico, e os
Doenas do Aparelho Digestivo
228
0 100%
1 A 95%
1 B 82%
II 55%
III A 30%
III B 15%
IV 2%
Carcinoma inicial (T1) 90%
ESTADIO SOBREVIDA AOS 5 ANOS
que indiciam um prognstico adverso:
O envolvimento ganglionar no carcinoma gstrico precoce, a idade do doente, o sexo,
o grau de diferenciao celular e a intensidade da reaco fibrtica, so considerados
factores de escasso valor prognstico.
7 Tratamento
A. Cirurgia
O nico tratamento potencialmente curativo a resseco cirrgica do tumor gstri-
co conjuntamente com os gnglios linfticos envolvidos. Mesmo que o carcinoma
no seja ressecvel com intuitos curativos, a resseco paliativa ainda o meio
mais eficaz de prover alvio sintomtico, conseguindo jugular os sintomas obstruti-
vos em cerca de 50% dos casos. A cirurgia com inteno curativa deve ser conside-
rada em virtualmente todos os casos, exceptuando-se as situaes de contra--indi-
cao cirrgica ou de metstases a distncia.
Nas resseces curativas, isto , em que o tumor foi removido e as margens da res-
seco cirrgica no evidenciam infiltrao neoplsica, a taxa mdia de sobrevida aos
5 anos de cerca de 30%.
A mortalidade e a morbilidade da interveno cirrgica dependem essencialmente do
cirurgio e do doente. Nas resseces curativas, a mortalidade ronda os 7-10%, e nas
resseces paliativas atinge os 15-20%, nalgumas sries.
A opo gastrectomia total versus gastrectomia parcial provavelmente no influencia
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
229
Bom Prognstico
Cancro gstrico precoce
- Graus iniciais da classificao TNM
- Ausncia de envolvimento ganglionar
- Possvel a resseco com intuito curativo
Mau Prognstico
Graus elevados da classificao TNM
- Irressecabilidade com intuito curativo
- Tumor aneuplide
- Cancro do estmago proximal
- Tumor avanado e extenso
- Envolvimento peritoneal
- Ascite maligna
- Linite plstica
FACTORES DE PROGNSTICO NO CANCRO GSTRICO
a sobrevida. Nos tumores do antro, a gastrectomia parcial provavelmente adequa-
da. Os tumores volumosos e extensos, ou os que se localizam na zona proximal do
estmago, podem necessitar de gastrectomia total.
Quando no vivel a resseco cirrgica curativa ou paliativa, o tratamento paliati-
vo endoscpico com laser pode facultar alvio temporrio, ainda que tenha de ser com
frequncia repetido. Nos tumores da juno esofago-gstrica, com sintomas obstruti-
vos, a colocao de uma prtese expansvel pode aliviar as queixas do doente.
A mucosectomia endoscpica e a teraputica fotodinmica laser tm sido utilizadas,
sobretudo no Japo, em tumores gstricos iniciais, designadamente em doentes com
risco cirrgico acrescido. Os resultados reportados tm sido muito favorveis.
Nos cinco anos aps resseco cirrgica curativa, acontece recidiva tumoral em cerca
de 80% dos doentes. A maioria das recorrncias so loco-regionais.
B. Terpeutica Adjuvante
Ainda no est comprovado o valor da teraputica adjuvante ou neoaduvante (pr-
operatria) utilizando quimioterpia, radioterpia ou a sua combinao. Embora mui-
tos ensaios teraputicos, utilizando variados regimes de quimioterpia, tenham logra-
do uma resposta clnica em cerca de 30% dos doentes, no h evidncia cientfica de
benefcio na sobrevida aos 5 anos. Apesar disso, muitos autores defendem a imple-
mentao de teraputica adjuvante, no mbito de protocolos rigorosos conduzidos em
centros de referncia.
C. Terpeutica Paliativa
J frisamos que a cirurgia e a endoscopia podem ter utilidade no alvio dos sintomas,
designadamente nos que resultam de obstruo pelo processo neoplsico. A quimio-
terpia e a radioterpia, ou a sua combinao, tm sido experimentadas em doentes
no submetidos a cirurgia, por contra-indicao. Aqui tambm, os resultados eviden-
ciam uma resposta clnica discreta, sem evidncia de aumento na sobrevida.
8 Preveno
So ainda especulativas as razes do declnio na incidncia do cancro gstrico. No
entanto, as notveis alteraes temporais, a varivel incidncia em termos geogrfi-
cos e a observao de que o risco do cancro se modificou em duas geraes quando
populaes migraram de reas de alto risco para zonas de baixo risco, suportam a
hiptese de que factores do ambiente, provavelmente operando durante as idades
precoces da vida, so cruciais na etiologia deste tumor. Consequentemente, a preven-
o possvel.
A pesquisa etiolgica demonstrou que o elevado consumo de vegetais e frutas est
consistentemente associado a uma diminuio do risco de cancro. Existem muitos
Doenas do Aparelho Digestivo
230
agentes potencialmente anticancergenos nestas fontes alimentares. No entanto, as
duas substncias que aparentemente so mais importantes na preveno da carcino-
gnese gstrica, so o cido ascrbico e os carotenides.
O cido ascrbico pode bloquear a formao intragstrica de compostos N-nitrosos,
protege contra a peroxidao lipdica, aumenta a eficcia da vit. E e tem funes no
sistema imunitrio. Nos doentes com gastrite crnica, a concentrao de cido ascr-
bico diminui nos intervalos entre as refeies. H quem propugne a sua utilizao di-
ria, designadamente nestas situaes.
Os carotenides derivam quase inteiramente de alimentos como a cenoura, o tomate
e os vegetais verdes. Podem ser protectores na medida em que fixam certos radicais
livres e aumentam a capacidade imunitria. Actualmente esto a ser conduzidos vrios
estudos de quimiopreveno, aguardando-se os resultados.
Dado que o tabaco constitui um moderado factor de risco do cancro do estmago,
recomenda-se que os fumadores utilizem anti-oxidantes (nomeadamente a vit. C e os
carotenos), para reduo desse risco.
Em certos sectores, defende-se que a preveno do cancro gstrico poderia passar
pela erradicao da infeco Hp, tendo em considerao a sua vinculao causal com
este tumor. Essa estratgia poder ser vlida no plano terico, mas impraticvel no
momento actual. Est ainda por esclarecer se a erradicao desta infeco em popu-
laes de alto risco determina uma reduo na incidncia do cancro gstrico.
Desenvolvem-se actualmente grandes esforos no desenvolvimento de uma vacina
anti-H. pylori. Ser uma outra forma de reduzir esta infeco e eventualmente contri-
buir para a preveno do cancro do estmago.
B. LINFOMA
1. Introduo
O linfoma o segundo mais frequente tumor maligno do estmago, aps o adeno-
carcinoma. Representa cerca de 5% de todas as neoplasias gstricas. Nos doentes
com a sindrome da imunodeficincia adquirida, o risco de desenvolvimento do linfo-
ma cerca de 5 vezes superior ao padro normal.
Mais de 95% dos linfomas gstricos so linfomas no-Hodgkin. So doenas clonais
malignas do tecido linfide, e quando se localizam primariamente no estmago, deri-
vam essencialmente das clulas B. Os linfomas gstricos de clulas T so raros.
Alguns investigadores sugeriram que os linfomas gastrointestinais, incluindo os linfo-
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
231
mas gstricos, so derivados de clulas B intraepiteliais que se localizam nas placas
de Peyer do intestino delgado e da regio ileo-cecal. O estmago normalmente des-
provido de tecido linfide. Contudo, muitos linfomas gstricos de baixo grau e de alto
grau apresentam infiltrao da mucosa por pequenos linfcitos centrocticos com a
aparncia morfolgica de tecido linfide associado s mucosas (MALT). Estes linfomas
tm sido chamados de linfomas MALT ou MALTomas. O H. pylori tem sido incrimina-
do como potencial factor etiolgico na patognese dos linfomas gstricos, particular-
mente dos linfomas MALT. Mais de 90% dos linfomas MALT de baixo grau so positi-
vos para a infeco H. pyori. Alm disso, a erradicao da infeco Hp induz a regres-
so deste tipo de linfoma, de acordo com vrios estudos.
Segundo Isaacson et al., o grupo que pela primeira vez evidenciou que o tecido MALT
representa a matriz para o desenvolvimento dos linfomas primrios extranodais, a
classificao dos linfomas gastrointestinais a seguinte:
Doenas do Aparelho Digestivo
232
Os sintomas de apresentao clnica so geralmente inespecficos: dispepsia ou sin-
tomas sugestivos de lcera pptica, por vezes com complicaes de anemia, hemor-
ragia ou perfurao (raro). Tambm raro o achado de uma massa abdominal no
exame fsico.
Os achados endoscpicos so variados. Vo desde quadros de gastrite macroscpica
ou pregas espessadas, at leses ulcerosas ou infiltrativas. Nos linfomas de alto grau
observam-se geralmente ulceraes extensas ou tumores protuberantes. fundamen-
tal colher mltiplas bipsias, porque o tumor tem frequentemente uma natureza mul-
tifocal, e tambm porque h necessidade de excluir uma transformao focal de baixo
em alto grau.
Um diagnstico preciso do grau histolgico de malignidade essencial para a abor-
dagem teraputica do linfoma. No linfoma MALT de baixo grau os achados histopato-
lgicos incluem uma morfologia tpica com pequenas clulas B, denominadas de cen-
Linfomas MALT Com atrofia de vilosidades
- Baixo grau Sem atrofia de vilosidades
- Alto grau
Centrotroblstico
Imunoblstico
Indiferenciado
Polipose linfomatosa mltipla
Burkitt ou Burkitt-like
Tipo nodal
CLASSIFICAO DOS LINFOMAS GASTROINTESTINAIS
Linfomas de clulas B Linfomas de clulas T
trocticas, infiltrando a estrutura glandular, alm da evidncia inequvoca de destrui-
o linfoepitelial. Os linfomas de alto grau so constitudos essencialmente por cen-
troblastos, com uma membrana nuclear bem desenvolvida e vrios nuclolos, peque-
nos e marginais. Em casos de dvida, h o recurso a tcnicas imunohistoqumicas.
Definido o diagnstico de linfoma gstrico, e caracterizado o seu tipo, necessrio
responder a trs quesitos prticos: trata-se de um linfoma gstrico primrio? Qual a
extenso loco-regional? H disseminao a distncia?
Relativamente ao primeiro quesito, os critrios que confirmam a origem primariamen-
te gstrica do linfoma so:
- Ausncia de linfadenopatias palpao;
- Achados normais no hemograma e medulograma;
- Ausncia de adenopatias mediastnicas no Rx do trax;
- Linfoma limitado ao tracto gastrointestinal, de acordo com estudos imagiolgi-
cos/laparotomia;
- No envolvimento do fgado e bao.
Para a confirmao destes critrios, fundamental realizar vrios exames: exame fsi-
co do doente, ileocolonoscopia, estudo radiolgico do trax e do intestino delgado,
tomografia axial computorizada, estudo do anel de Waldeyer com endoscopia e bi-
psias, ou TAC, medulograma, hemograma e outras rotinas laboratoriais.
O segundo quesito que se coloca, uma vez definida a origem primria do linfoma,
saber qual o grau de penetrao na parede gstrica e de eventual extenso loco-regio-
nal. Isto , essencial proceder ao estadiamento do processo. Tm sido propostos
vrios sistemas de estadiamento do linfoma gstrico, anotados no quadro seguinte:
A ecoendoscopia provou ser o melhor mtodo para a definio da infiltrao tumoral
e envolvimento dos gnglios regionais, com uma acuidade de cerca de 80%.
Ocasionalmente, a laparotomia essencial para estabelecer o diagnstico e o envol-
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
233
Confinado ao tracto gastrointestinal I E I E I
Envolvimento ganglionar II E
- Gnglios regionais II E1 II 1
- Gnglios extra-regionais II E2 II 2
Envolvimento da serosa + estruturas vizinhas II E
Envolvimento ganglionar (infra e supradiafragmtico) III E III E
Envolvimento ganglionar no gastrointestinal IV E IV E IV
SISTEMAS DE ESTADIAMENTO DO LINFOMA GSTRICO
Parmetro Ann Arbor Musshoff Blackledge
vimento regional e extra-regional.
Com os dados facultados pela ecoendoscopia, associados a outros factores, poss-
vel estabelecer um prognstico, ainda que aproximado, do linfoma gstrico, de acor-
do com os seguintes critrios:
O terceiro quesito a que importa responder, diz respeito a eventual disseminao a
distncia. O envolvimento ganglionar geralmente locoregional. Embora se admita
que o linfoma MALT de baixo grau permanece localizado na zona de origem, usual-
Doenas do Aparelho Digestivo
234
Bom Prognstico
Tumor inferior a 10 cm de dimetro
Envolvimento exclusivo da submucosa
Aspectos histolgicos de MALT (baixo grau)
Estdio I E ou II E1 de Musshoff
Ressecabilidade para cura
Mau Prognstico
Associao com HIV
Abdmen agudo como apresentao clnica
Tumor na pequena curvatura
Imunoblastos na histologia
Tumores de clulas T
Aneuploidia
Estadio de Musshoff > II E2
FACTORES DE PROGNSTICO DO LINFOMA GSTRICO
mente o antro gstrico, durante perodos prolongados, estudos recentes sugerem a
possibilidade de disseminao para o intestino delgado, para outro rgo MALT ou
mesmo para a medula. fundamental, por isso, submeter estes doentes a vigilncia
peridica, mesmo aps uma teraputica aparentemente bem sucedida.
2. Tratamento
Embora no exista uma abordagem teraputica dogmtica para o tratamento do lin-
foma gstrico, uma das propostas actualmente aceites, tendo como base o estadia-
mento de Musshof, a seguinte:
Tem sido recomendada a teraputica de erradicao do H. pylori em linfomas MALT
de baixo grau. Dadas as dificuldades no estabelecimento de um diagnstico rigoroso,
e considerada a indispensabilidade de um programa de vigilncia muito apertado,
estes doentes devem ser tratados em centros especializados e preferentemente no
contexto de protocolos estruturados.
O protocolo teraputico de erradicao envolve a administrao de um inibidor da
bomba de protes + dois antibiticos, durante 15 dias. A remisso endoscpica ocor-
re em percentagens que atingem os 70%, observando-se a remisso histolgica entre
2 a 18 meses aps a erradicao do H. pylori. No entanto, nalgumas sries as taxas
de remisso so bem inferiores, provavelmente em consequncia da incluso de doen-
tes com graus de estadiamento diferentes.
Por outro lado, ainda no conhecido o resultado final desta teraputica. Esto des-
critas recidivas meses ou anos aps o tratamento inicial. Nestes casos, prudente
avanar com a cirurgia eventualmente associada a radioquimioterapia.
Nos linfomas de alto grau, a teraputica de erradicao do H. pylori no tem cabi-
mento. A cirurgia + quimioradioterapia a 1 opo teraputica. Embora os dados
actuais no permitam uma definio rigorosa do prognstico do linfoma gstrico,
consensual admitir que tem muito melhor prognstico que o adenocarcinoma gstri-
co.
2. PLIPOS GSTRICOS
Os plipos gstricos tm uma estrutura histolgica variegada, compreendendo no s
neoplasias benignas ou malignas, mas ainda formaes de natureza inflamatria,
degenerativa e infecciosa, ou proliferaes de tecido normal (hamartomas) ou ectpi-
co (por ex. pncreas aberrante).
essencial caracterizar histolgicamente o plipo gstrico, para se poderem distribuir,
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
235
Linfoma MALT (baixo grau) Erradicar infeco por H. pylori Cirurgia
I E Cirurgia * QT + RT
II E1 ** Cirurgia + RT QT + RT
II E2 Cirurgia + RT QT + RT
III E QT + RT
IV E QT + RT
TERPEUTICA DO LINFOMA GSTRICO
Estadio de Musshof 1 opo alternativa%
* Gastrectomia sub-total + resseco linftica QT: quimioterapia
** Gastrectomia total + resseco linftica RT: Radioterapia
no plano prtico, nos seguintes grupos:
- Plipos sem risco pr-maligno
- Plipos de baixo risco de malignizao
- Plipos indicativos de condio pr-maligna
- Plipos pr-malignos
- Plipos malignos
De acordo com a OMS, a classificao dos plipos gstricos a seguinte:
Stolte et al., num estudo publicado em 1994, apresentaram a seguinte frequncia de
Doenas do Aparelho Digestivo
236
1. Neoplasias
A. Epiteliais
Adenoma tipo intestinal
Adenoma tubular
Adenoma tubuloviloso
Adenoma viloso
Adenoma de glndulas pilricas
Adenocarcinoma
B. Endcrinos
Carcinide
C. Mesenquimatosos
Leiomioma
Tumor neurognico: neurinoma, neurofibroma
Tumor de clulas granulosas
Lipoma
Sarcoma: neurosarcoma, fibrosarcoma, leiomiosarcoma
2. Leses tumor-like
Plipo de glndulas fndicas
Plipo hiperplsico
Plipo fibride inflamatrio
Heterotopia pancretica
Heterotopia de glndulas de Brunner
Plipo de Peutz-Jeghers
Plipo Cronkhite-Canada
Plipo juvenil
3. Diagnstico diferencial
Hiperplasia foveolar focal
Folculos linfticos
Pregas gigantes
Gastrite varioliforme
PLIPOS GSTRICOS CLASSIFICAO DA OMS
plipos gstricos, em 4852 doentes:
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
237
COMENTRIOS
1. Neoplasias
O significado biolgico do adenoma gstrico idntico ao do adenoma do clon.
mais frequente no corpo do que no antro, e endoscpicamente apresenta-se como
uma leso avermelhada, plana ou por vezes deprimida. O adenoma uma leso pr-
maligna (displasia). A incidncia de cancerizao varia consoante as sries, situando-
se entre 3.4% a 75%. Essa probabilidade depende do tipo histolgico, da dimenso
e da estrutura do plipo. Segundo a literatura, a existncia simultnea de um carci-
noma ocorre em 8-59%.
Segundo Rindi et al., podem ser diferenciados trs tipos de tumores de clulas end-
crinas (carcinides):
1. Tumor carcinide em gastrite auto-imune
2. Tumor carcinide espordico
3. Carcinide na sindrome de Zollinger-Ellison ou de MEN 1 (multiple endocrine
neoplasia).
Segundo estes autores, a taxa de metastizao dos carcinides espordicos de 65.4%,
de 12% nos carcinides do Z-E, e de 7.6% nos carcinides da gastrite auto-imune.
FREQUNCIA DE PLIPOS GSTRICOS EM 4852 DOENTES
1. Neoplasias %
Total 19
Adenoma tubular 9
Adenoma tubulopapilar 1
Adenoma papilar 0.1
Adenoma de glndulas pilricas 0.1
Adenocarcinoma 7.2
Carcinide 1.7
2. Leses tumor-like %
Total 64
Quistos glandulares 47
Plipos hiperplsicos 28.3
Plipos fibrides inflamatrios 3.1
Heterotopia das glndulas de Brunner 1.2
Plipos de Peutz-Jeghers 0.3
Plipos Cronkite-Canada 0.1
Plipos juvenis 0.1
Os leiomiomas provm da muscularis mucosae ou da muscularis propria. No material
de autpsia cuidadosamente analisado, quase 50% dos indivduos com mais de 50
anos tm neoplasias de tipo leiomioma. A transio para leiomiosarcoma rara, e s
acontece quando o tumor benigno atinge mais de 2-3 cm. A contagem de mitoses
um critrio fidedigno para distinguir o leiomioma do leiomiosarcoma. Mais de 10 mito-
ses em 50 campos=leiomiosarcoma.
Os lipomas gstricos so raros, representando 3-7% de todos os tumores benignos
do estmago. Usualmente so leses solitrias.
Os tumores neurognicos tambm so raros. H vrios tipos histolgicos: (1) tumores
das clulas de Schwann (neurinoma e sarcoma neurognico); (2) tumores do plexo
nervoso autnomo; (3) neurofibromas (ou neurofibrosarcomas).
Os neurofibromas so extremamente raros, excepto no contexto da doena de
Recklinghausen, situao que pode determinar o desenvolvimento de mltiplos neu-
rofibromas no estmago.
2. Leses tumor-like
Os plipos de glndulas fndicas, ou quistos glandulares, descritos por Elster em
1977, encontram-se exclusivamente no corpo e na zona fndica. Apresentam-se como
leses lisas, diminutas, surgindo quase sempre em mucosa normal. Em 50% dos
doentes com polipose adenomatosa familiar do clon, e na sindrome de Gardner,
detectam-se estes quistos glandulares no estmago, usualmente em forma de polipo-
se.
Os plipos hiperplsicos no so leses pr-malignas (displasias). De facto a incidn-
cia de malignizao destes plipos muito rara. No entanto, so indicadores de uma
potencial condio pr-cancerosa, na medida em que se desenvolvem carcinomas na
mucosa normal de estmagos que tm plipos hiperplsicos. Essa incidncia de
malignizao situa-se na ordem dos 8%. Por isso, os plipos hiperplsicos, sobretu-
do se so mltiplos, devem ser objecto de vigilncia.
Os plipos fibrides inflamatrios, as heterotopias das glndulas de Brunner (locali-
zadas quase sempre no antro) e as heterotopias pancreticas (localizadas exclusiva-
mente no antro) no apresentam risco de malignizao.
Os plipos de Peutz-Jeghers integram-se na constelao desta sindrome. So usual-
mente diminutos, podendo associar-se a adenomas. Reporta-se uma tendncia de 1-
3% de malignizao.
Doenas do Aparelho Digestivo
238
Os plipos juvenis do estmago so quase sempre mltiplos. A polipose gastrointes-
tinal juvenil est largamente confinada ao clon, mas pode atingir o estmago em
cerca de 13,6%. A sindrome da polipose juvenil, com uma taxa de cancerizao de
17,6%, deve ser considerada uma condio pr-neoplsica.
3.Diagnstico diferencial
A hiperplasia foveolar focal uma situao regenerativa residual subsequente a cica-
trizao de uma eroso, habitualmente induzida por infeco H. pylori ou por AINEs.
Macroscpicamente apresenta-se sob a forma de um cordo de prolas, usualmente
no antro, detectando-se uma depresso em cada salincia. uma leso inofensiva.
As eroses crnicas da mucosa gstrica podem apresentar macroscpicamente a con-
figurao de plipos, frequentemente com uma eroso central. Estes denominados
plipos deprimidos surgem no corpo e na zona fndica, sendo considerados uma
expresso da gastrite linfoctica, provavelmente relacionada com a infeco por H.
pylori. Aplica-se a designao de gastrite varioliforme a estas eroses crnicas.
Os folculos linfides surgem frequentemente no antro, no contexto de uma infeco
por H. pylori. Podem ser muito numerosos, conferindo mucosa um aspecto granu-
loso. Eventualmente podem dar origem a um linfoma MALT.
As pregas gigantes, usualmente com mais de 10 mm de espessura, podem ser obser-
vadas em situaes de hiperplasia foveolar difusa (doena de Mnetrier), na sindro-
me de Zollinger-Ellison, em quadros inflamatrios e tambm em processos neoplsi-
cos.
4.Tratamento
A experincia do gastroenterologista muito importante na avaliao endoscpica dos
plipos gstricos. Muitas situaes exigem bipsias para definio exacta da estrutu-
ra histolgica do plipo.
Relativamente ao risco de malignizao, os plipos gstricos podem dividir-se em
quatro grupos:
(1) Plipos sem risco: plipos fibrides inflamatrios, heterotopias;
(2) Plipos com risco muito reduzido: plipos das glndulas fndicas (quistos
glandulares), tambm chamados plipos de Elster;
(3) Plipos marcadores de condio pr-cancerosa: plipos hiperplsicos, tumor
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
239
carcinide em gastrite auto-imune (gastrite tipo A);
(4) Plipos pr-malignos: adenomas.
Em funo dos considerandos anteriores, o diagnstico e teraputica dos plipos gs-
tricos pode esquematizar-se da seguinte forma:
Plipo gstrico
Bipsias endoscpicas
Diagnstico
Ausncia de
risco
Follow-up Polipectomia
endoscpica
Cirurgia
Doenas do Aparelho Digestivo
240
ESTMAGO E DUODENO - Tumores do Estmago
241
REFERNCIAS
Rustgi AK (Ed.). Section III. Cancer of the stomach. In: Gastrointestinal cancers. Biology, diagnosis, and therapy. Lippincott-Raven, 1995:197-292.
Smith JP. Adenocarcinoma and other tumors of the stomach. In: Wolfe MM (Eds). Therapy of Digestive Disorders. W.B. Saunders Co. 2000:197-206.
Luk GD. Tumors of the stomach. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds.). Sleisenger & Fordtrans Gastrointestinal and Liver
Disease. W.B. Saunders Co. 1998:733-760.
Hotz , Meyer H-J, Schmoll H-J (Eds.). Gastric carcinoma. Springer-Verlag, 1989.
Schmitz J, Solte M. Gastric polyps as precancerous lesions. Gastrointest Endosc Clin N Am 1997;7(1):29-46.
Moayyedi P, Dixon MF. Significance of Helicobacter pylori infection and gasric cancer: implications for screening. Gastrointest Endosc Clin N
Am. 1997;7(1):47-64.
Eastwood GL. Premalignant conditions of the gastrointestinal tract. Elsevier, 1991.
Van Dam J, Sivak MV (Eds.). Gastrointestinal Endosonography. W.B. Saunders Co., 1999.
Fljou J-F. Bases morphologiques et molculaires de la cancrogense du tube digestif. Gastroenterol Clin Biol 2000;24:B95-102.
Ponchon T. Diagnostic endoscopique des lsions noplasiques superficielles du tube digestif. Gastroenterol Clin Biol 2000;24:B109-B122.
Selvasekar CR, Birbeck N McMillan T et al. Review article: photodynamic therapy and the alimentary tract. Aliment Pharmac Ther 2001;15:899-915.
Tursi A, Gasbarrini G. Acquired gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT). J Clin Gastroenterol 1999;29(2):133-137.
Ruskon-Fourmestraux A. Prise en charge dun malade atteint dun lymphome gastrique. Gastroenterol Clin Biol, 1996;20:B113-B119.
Ducreux M, Sabourin JC, Boutron M-C et al. Lymphome gastrique: histoire naturelle et classification. Gastroenterol Clin Biol 1996;20:B105-
B112.
Pinho C, Sousa C, Lago P et al. Condies e leses pr-malignas do estmago. In: Pinho CA, Soares J (Eds). Condies e leses pr-malig-
nas do tubo digestivo. Permanyer Portugal, 1998.
Seruca R. Gastric carcinoma: chromosomes and genes. Tese de doutoramento, Porto 1995.
Gouveia Monteiro J. Alguns aspectos da problemtica do cancro do estmago em Portugal. Rev. Gastrenterol 1987;V(17):1-12.
Gouveia Monteiro J, Romozinho JM. Rastreio do cancro do estmago segunda fase. Rev. Gastrenterol 1989;VI(24):187-201.
Gouveia Monteiro J, Vilaa Ramos H, Freitas D et al. Rastreio do cancro do estmago: primeiros resultados. Coimba Mdica 1973;XX(VIII):799-808.
Freitas D, Donato A, Godinho de Oliveira M et al. Resseco endoscpica de plipos do estmago, duodeno, clon e recto. J. do Mdico
1978;XCVI (1779):129-135.
Becker KF, Keller G, Hoefler H. The use of molecular biology in diagnosis and prognosis of gastric cancer. Surg Oncol. 2000 Jul;9(1):5-11.
Stein HJ, Feith M, Siewert JR. Cancer of the esophagogastric junction. Surg Oncol. 2000 Jul;9(1):35-41.
Tschmelitsch J, Weiser MR, Karpeh MS. Modern staging in gastric cancer. Surg Oncol. 2000 Jul;9(1):23-30.
Sano T, Katai H, Sasako M, Maruyama K. The management of early gastric cancer. Surg Oncol. 2000 Jul;9(1):17-22.
Steele RJ, Lane DP. Gene therapy for gastric cancer: problems and prospects. Surg Oncol. 2000 Jul;9(1):13-6.
Chan AO, Wong BC, Lam SK. Gastric cancer: past, present and future. Can J Gastroenterol. 2001 Jul;15(7):469-74.
Genta RM, Rugge M. Review article: pre-neoplastic states of the gastric mucosaa practical approach for the perplexed clinician. Aliment
Pharmacol Ther. 2001 Jun;15 Suppl 1:43-50.
Feldman RA. Review article: would eradication of Helicobacter pylori infection reduce the risk of gastric cancer? Aliment Pharmacol Ther. 2001
Jun;15 Suppl 1:2-5.
Janunger KG, Hafstrom L, Nygren P, Glimelius B. A systematic overview of chemotherapy effects in gastric cancer. Acta Oncol. 2001;40(2-
3):309-26.
Wilkinson M. Helicobacter pylori: an overview. Br J Biomed Sci. 2001;58(2):59-60.
Chan AO, Chu KM, Yuen ST, Leung SY, Lam SK, Wong J. Synchronous gastric adenocarcinoma and mucosa-associated lymphoid tissue lymp-
homa in association with Helicobacter pylori infection: comparing reported cases between the East and West. Am J Gastroenterol. 2001
Jun;96(6):1922-4.
Sepulveda AR. Molecular testing of Helicobacter pylori-associated chronic gastritis and premalignant gastric lesions: clinical implications. J
Clin Gastroenterol. 2001 May-Jun;32(5):377-82.
Werner M, Becker KF, Keller G, Hofler H. Gastric adenocarcinoma: pathomorphology and molecular pathology. J Cancer Res Clin Oncol. 2001
Apr;127(4):207-16.
Shim CS. Endoscopic mucosal resection: an overview of the value of different techniques. Endoscopy. 2001 Mar;33(3):271-5.
Blaser MJ, Berg DE. Helicobacter pylori genetic diversity and risk of human disease. J Clin Invest. 2001 Apr;107(7):767-73.
Inoue H. Treatment of esophageal and gastric tumors. Endoscopy. 2001 Feb;33(2):119-25.
Moreto M. Diagnosis of esophagogastric tumors. Endoscopy. 2001 Jan;33(1):1-7.
Oberhuber G, Stolte M. Gastric polyps: an update of their pathology and biological significance. Virchows Arch. 2000 Dec;437(6):581-90.
Uemura N, Okamoto S. Effect of Helicobacter pylori eradication on subsequent development of cancer after endoscopic resection of early
gastric cancer in Japan. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Dec;29(4):819-27.
Barr H, Dix AJ, Kendall C, Stone N. Review article: the potential role for photodynamic therapy in the management of upper gastrointestinal
disease. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Mar;15(3):311-21.
La Vecchia C, Franceschi S. Nutrition and gastric cancer. Can J Gastroenterol. 2000 Nov;14 Suppl D:51D-54D.
Fischbach W. Primary gastric lymphoma of MALT: considerations of pathogenesis, diagnosis and therapy. Can J Gastroenterol. 2000 Nov;14
Suppl D:44D-50D.
Kranenbarg EK, van de Velde CJ. Surgical treatment of gastric cancer. Ann Chir Gynaecol. 2000;89(3):199-206.
Huang JQ, Hunt RH. Review article: Helicobacter pylori and gastric cancerthe clinicianspoint of view. Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14
Suppl 3:48-54.
Haruma K. Trend toward a reduced prevalence of Helicobacter pylori infection, chronic gastritis, and gastric cancer in Japan. Gastroenterol
Clin North Am. 2000 Sep;29(3):623-31.
Kimura K. Gastritis and gastric cancer. Asia. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):609-21.
Morgner A, Bayerdorffer E, Neubauer A, Stolte M. Malignant tumors of the stomach. Gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma
and Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):593-607.
Sipponen P, Marshall BJ. Gastritis and gastric cancer. Western countries. Gastroenterol Clin North Am. 2000 Sep;29(3):579-92.
Ernst PB, Gold BD. The disease spectrum of Helicobacter pylori: the immunopathogenesis of gastroduodenal ulcer and gastric cancer. Annu
Rev Microbiol. 2000;54:615-40.
Go MF, Smoot DT. Helicobacter pylori, gastric MALT lymphoma, and adenocarcinoma of the stomach. Semin Gastrointest Dis. 2000
Jul;11(3):134-41.
Ebert MP, Yu J, Sung JJ, Malfertheiner P. Molecular alterations in gastric cancer: the role of Helicobacter pylori. Eur J Gastroenterol Hepatol.
2000 Jul;12(7):795-8.
Roukos DH. Current status and future perspectives in gastric cancer management. Cancer Treat Rev. 2000 Aug;26(4):243-55.
De Vivo R, Pignata S, Palaia R, Parisi V, Daniele B. The role of chemotherapy in the management of gastric cancer. J Clin Gastroenterol. 2000
Jun;30(4):364-71.
Laine L, Ahnen D, McClain C, Solcia E, Walsh JH. Review article: potential gastrointestinal effects of long-term acid suppression with proton
pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther. 2000 Jun;14(6):651-68.
Murata Y. Endoscopic ultrasonography for determining the depth of cancer invasion in gastric cancer. J Gastroenterol. 2000;35(5):402-3.
Eck M, Schmausser B, Greiner A, Muller-Hermelink HK. Helicobacter pylori in gastric mucosa-associated lymphoid tissue type lymphoma.
Recent Results Cancer Res. 2000;156:9-18.
Van Krieken JH, Hoeve MA. Epidemiological and prognostic aspects of gastric MALT-lymphoma. Recent Results Cancer Res. 2000;156:3-8.
Kuniyasu H, Yasui W, Yokozaki H, Tahara E. Helicobacter pylori infection and carcinogenesis of the stomach. Langenbecks Arch Surg. 2000
Mar;385(2):69-74.
Morgner A, Bayerdorffer E, Neubauer A, Stolte M. Gastric MALT lymphoma and its relationship to Helicobacter pylori infection: management
and pathogenesis of the disease. Microsc Res Tech. 2000 Mar 15;48(6):349-56.
Rugge M, Correa P, Dixon MF, et al. Gastric dysplasia: the Padova international classification. Am J Surg Pathol. 2000 Feb;24(2):167-76.
Hansson LE. Risk of stomach cancer in patients with peptic ulcer disease. World J Surg. 2000 Mar;24(3):315-20.
Stadtl]ander CT, Waterbor JW. Molecular epidemiology, pathogenesis and prevention of gastric cancer. Carcinogenesis. 1999 Dec;20(12):2195-208.
Bergman JJ, Fockens P. Endoscopic ultrasonography in patients with gastro-esophageal cancer. Eur J Ultrasound. 1999 Nov;10(2-3):127-38.
Siewert JR, Sendler A. The current management of gastric cancer. Adv Surg. 1999;33:69-93.
Williams MP, Pounder RE. Helicobacter pylori: from the benign to the malignant. Am J Gastroenterol. 1999 Nov;94(11 Suppl):S11-6.
Lauwers GY, Riddell RH. Gastric epithelial dysplasia. Gut. 1999 Nov;45(5):784-90.
Genta RM, Rugge M. Gastric precancerous lesions: heading for an international consensus. Gut. 1999 Jul;45 Suppl 1:I5-8.
Kuntz C, Herfarth C. Imaging diagnosis for staging of gastric cancer. Semin Surg Oncol. 1999 Sep;17(2):96-102.
Isaacson PG. Gastric MALT lymphoma: from concept to cure. Ann Oncol. 1999 Jun;10(6):637-45.
Cover TL, Blaser MJ. Helicobacter pylori factors associated with disease. Gastroenterology. 1999 Jul;117(1):257-61.
Spechler SJ. The role of gastric carditis in metaplasia and neoplasia at the gastroesophageal junction. Gastroenterology. 1999 Jul;117(1):218-
28.
Scheiman JM, Cutler AF. Helicobacter pylori and gastric cancer. Am J Med. 1999 Feb;106(2):222-6.
Lambert R. The role of endoscopy in the prevention of esophagogastric cancer. Endoscopy. 1999 Feb;31(2):180-99.
Kuipers EJ. Review article: exploring the link between Helicobacter pylori and gastric cancer. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Mar;13 Suppl 1:3-11.
Bevan S, Houlston RS. Genetic predisposition to gastric cancer. QJM. 1999 Jan;92(1):5-10.
Inoue H, Tani M, Nagai K, et al. Treatment of esophageal and gastric tumors. Endoscopy. 1999 Jan;31(1):47-55.
Lambert R. Diagnosis of esophagogastric tumors: a trend toward virtual biopsy. Endoscopy. 1999 Jan;31(1):38-46.
Doenas do Aparelho Digestivo
242
SECO III
INTESTINO
Doenas do Aparelho Digestivo
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
245
SECO III - INTESTINO
CAPTULO X
SNDROMES DE M ABSORO
1. Introduo Fisiolgica
2. Clnica de M Absoro
3. Causas de M Absoro
4. Meios de Diagnstico
5. Tratamento
245
Doenas do Aparelho Digestivo
1.INTRODUO FISIOLGICA
A maior funo do intestino delgado a digesto e absoro de alimentos e nutrien-
tes. A designao de sindromes de m absoro inclui distrbios de m digesto e
de m absoro, mas os dois processos so distintos. A m digesto diz respeito a
problemas relacionados com a digesto de protenas, hidratos de carbono e/ou gor-
duras, enquanto que a m absoro est relacionada com a deficiente capacidade de
absoro destes produtos pelo intestino delgado. Alm disso, a m absoro implica
tambm uma diminuta absoro de vitaminas, minerais, gua e electrlitos.
As sindromes de m absoro so caracterizadas pela excessiva excreo fecal de gor-
dura (esteatorreia) e varivel m absoro de gorduras, protenas, hidratos de carbo-
no e outros nutrientes. Podem resultar de um distrbio da digesto, de diminuio
funcional da superfcie de absoro do intestino delgado ou ainda de uma perturba-
o dos mecanismos de transferncia dos nutrientes absorvidos pelos entercitos
para a circulao.
O processo de digesto converte os hidratos de carbono em mono e dissacardeos,
as protenas em peptdeos e aminocidos, e as gorduras em cidos gordos e mono-
glicerdeos. O suco salivar inicia estas complexas actividades digestivas, que conti-
nuam no estmago e so completadas na parte superior do intestino delgado. As
secrees gstrica, pancretica e biliar so necessrias para a digesto.
No contexto da digesto das gorduras, o suco gstrico a menos importante destas
secrees, sendo as enzimas excrinas pancreticas indispensveis. A lipase pancre-
tica, na presena da colipase pancretica, hidrolisa os triglicerdeos da dieta, desdo-
brando-os em monoglicerdeos, diglicerdeos e cidos gordos livres. Simultneamente,
so libertados das clulas endcrinas da parte alta do intestino delgado, a colecisto-
quinina (CCK), o polipeptdeo inibidor gstrico e a secretina.
Os cidos gordos e os monoglicerdeos penetram nos entercitos atravs das micro-
vilosidades e so re-esterificados em triglicerdeos no reticulo endoplasmtico. Estes
so entretanto agregados e recobertos por fosfolpidos, steres de coleserol e lipo-
protenas para formarem quilomicrons, que so transportados at ao complexo de
Golgi, deste para os linfticos e finalmente para a circulao. As gorduras so predo-
minantemente absorvidas no jejuno proximal.
Os hidratos de carbono da dieta so usualmente amidos, glicognio, dissacardeos e
monossacardeos. As amilases salivar e pancretica hidrolisam o amido em oligossa-
cardeos e dissacardeos, sendo os produtos residuais sobretudo a maltose e a mal-
totriose. Os dissacardeos so ento desdobrados enzimaticamente por dissacarida-
ses localizadas nas microvilosidades dos entercitos. Assim, a lactose cindida em
glicose e galactose, a sacarose em glicose e fructose, e a maltose em duas molcu-
las de glicose. Os monossacardeos so transportados para o interior dos entercitos,
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
247
e destes para a circulao portal.
As protenas da dieta so inicialmente submetidas a degradao dentro do estmago
pela pepsina. Protenas e peptdeos penetram seguidamente no intestino delgado pro-
ximal, onde sofrem a aco de enzimas pancreticas: endopeptidases (tripsina, qui-
motripsina e elastase) e exopeptidases (carboxipeptidases A e B). Dipeptidases loca-
lizadas nas vilosidades dos entercitos e no citosol desdobram os di- e tripeptdeos
em aminocidos.
No tocante s vitaminas, umas so liposolveis (vit. A, D, E e K) necessitando de gor-
duras e de sais biliares para a sua absoro, que ocorre no intestino delgado proxi-
mal por difuso passiva, sendo posteriormente transportadas e armazenadas no fga-
do. Entretanto, h vitaminas hidrosolveis (B
1
, B
2
, biotina, B
6
, C, niacina, cido pan-
totnico, folato, B
12
), usualmente integradas na dieta normal sob a forma de comple-
xos coenzimticos, que so degradados em formas mais simples para ser possvel a
sua absoro. Esta tem lugar na parte alta do intestino delgado, com excepo da vit.
B
12
.
A vitamina B12, aps se libertar de uma glicoprotena denominada haptocorrina, liga-
se ao factor intrnseco, e este complexo captado por endocitose no leo terminal.
No entercito, o factor intrnseco degradado, e a vit. B
12
libertada forma um com-
plexo com a transcobalamina II, que a transporta para a circulao portal. Aqui pro-
cessa-se a ligao a uma outra glicoprotena, a transcobalamina I, que constitui o prin-
cipal mecanismo de transporte da vit. B
12
para o fgado e medula ssea.
Quanto aos minerais, o ferro absorvido preferentemente na primeira poro do duo-
deno. Embora a transferrina promova a captao do ferro atravs das membranas
celulares, pensa-se que no importante na absoro luminal deste metal. De acor-
do com um modelo proposto por Conrad e Umbreit, integrinas localizadas no plo
luminal do entercito fixam o ferro e facilitam a sua passagem atravs da bordadura
em escova. O transporte activo do ferro, e de outros metais como o cobre e o zinco,
seria mediado pelo DCT-1 (divalent cation transporter). Transportado o ferro at ao
plo basal do entercito, a sua excreo para a circulao portal seria facilitada por
uma protena denominada mobilferrina, embora este aspecto ainda no se encontre
satisfatoriamente dilucidado. Neste fenmeno interviriam tambm, possivelmente, o
gene Hfe e um produto de um outro gene, sla.
Quanto aos outros minerais, cerca de 20-30% do clcio da dieta so absorvidos pelo
intestino, sobretudo no leo, por um mecanismo de transporte passivo. No entanto,
no duodeno o clcio absorvido mediante um mecanismo totalmente dependente da
vit. D. O transporte do clcio atravs do entercito requer a interveno de uma pro-
tena, a calbindina D, cujos nveis so regulados por metabolitos da vit. D. A absor-
o do clcio portanto dependente dos nveis desta vitamina.
O magnsio absorvido predominantemente no leo, sendo a sua absoro usualmen-
Doenas do Aparelho Digestivo
248
te independente da vit. D. Relativamente ao zinco, pensa-se que sobretudo absor-
vido no duodeno distal e jejuno proximal, por mecanismos ainda no esclarecidos. O
cobre absorvido essencialmente a jusante do duodeno.
A gua e os electrlitos so absorvidos por um mecanismo de transporte activo, com
uma interveno importante do sdio e da glicose.
2. CLNICA DA M ABSORO
muito varivel a apresentao clnica das sindromes de m absoro, dependente
da respectiva etiologia, da intensidade do processo e da fase em que observado. O
doente pode evidenciar, de forma exuberante, sintomas e sinais tpicos, mas por vezes
apresenta unicamente um achado isolado, por exemplo anemia ferripriva. Os sinais e
sintomas de m absoro de nutrientes esto indicados no quadro seguinte:
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
249
SINTOMAS E SINAIS DE M ABSORO DE NUTRIENTES
Sistema Sintomas ou Sinais Patofisiologia
Digestivo Perda de peso, debilidade Perda global de calorias
Diarreia Absoro de gua e sdio
Absoro de cidos gordos
e sais biliares
Fezes volumosas e oleosas Digesto de gorduras
Flatulncia, borborigmos e Digesto de lactose
distenso abdominal
Fezes lquidas e espumosas Digesto de lactose
Hematopoitico Anemia Absoro de Fe, Vit B
12
,
cido flico
Eventos hemorrgicos Deficincia em Vit. K
(petquias, prpura,
equimoses, hematria)
Glossite, queilose, estomatite Deficincia em Fe, Vit, B
12
,
cido flico e outras vitaminas
Nervoso Nevrite perifrica Deficincia em Vit B12
Dores sseas, fracturas Protenas Osteoporose
Osteopenia, tetania e Absoro de Ca hipocalcmia
parestesias Absoro de Vit D
osteomalcia (adulto),
raquitismo (criana)
Absoro de magnsio
3. CAUSAS DE M ABSORO
A. Doenas Pancreticas
Adulto
- Pancreatite crnica
- Cancro do pncreas
- Resseco pancretica
- Zollinger-Ellison (gastrinoma)
- Somatostatinoma
Criana
- Fibrose qustica
- Sindrome de Shwachman-Diamond
- Sindrome de Johanson-Blizzard
- Deficincia congnita de tripsina, quimotripsina e carboxipeptidase
COMENTRIOS
A pancreatite crnica a causa mais comum de esteatorreia no adulto. Esta ocorre
quando a destruio pancretica extensa e existe uma reduo de 90% na lipase
pancretica.
O Ca do pncreas e a resseco cirrgica parcial so causas raras de esteatorreia.
Na sndrome de Zollinger-Ellison pode ocorrer esteatorreia porque o pH baixo no est-
mago contribui para a m digesto e m absoro das gorduras.
O somatostatinoma origina esteatorreia porque inibe a secreo pancretica enzim-
tica e de bicarbonato, alm de provocar hipocinsia vesicular.
Na criana, a fibrose qustica a causa mais comum de insuficincia pancretica. Na
Doenas do Aparelho Digestivo
250
Sistema Sintomas ou Sinais Patofisiologia
Pele Edema Hipoproteinma
Petquias, equimoses, prpura M absoro de Vit.
e hematria
Dermatite, hiperqueratose Absoro de Vit. A, niacina,
zinco e cidos gordos
Msculo/esqueltico Astenia Anemia e hipocalimia
Endcrino Amenorreia Depleo proteica
hipopituitarismo secundrio
Impotncia, infertilidade M nutrio global
Hiperparatiroidismo Absoro de Ca e Vit. D
Noctria Atraso na absoro de gua
sindrome de Schwachman-Diamond h hipoplasia pancretica, com deficincia em
lipase e tripsina. A sindrome de Johanson-Blizzard muito rara.
B. Distrbios dos Sais Biliares
Diminuio da sua produo
- Doena hepatocelular
Diminuio da sua excreo no lume intestinal
- Atrsia biliar
- Obstruo biliar (clculo, tumor, estenose)
Diminuio da sua circulao entero-heptica
- Resseco ileal
- Doena ileal
- Bypass ileal (jejuno-ileostomia)
Depleo da sua concentrao intraluminal
- Drogas (colestiramina, neomicina)
- Sindrome de Zollinger-Ellison
- Proliferao bacteriana intestinal
- Pseudo-obstruo intestinal
COMENTRIOS
Os sais biliares agregam-se para a formao de micelas. Estas solubilizam os cidos
gordos e monoglicerdeos, formando-se micelas mistas hidrosolveis, que so absor-
vidas na superfcie luminal dos entercitos.
Quando h diminuio da concentrao micelar para valores crticos, ocorre m absor-
o de gorduras. Essa reduo na concentrao das micelas pode ser motivada por
uma das quatro causas acima indicadas.
importante sublinhar que cerca de 30% dos cidos gordos de cadeia mdia so
hidrosolveis, no requerendo a lipase pancretica para a sua digesto, nem os cidos
biliares para a sua solubilizao micelar. No so incorporados em quilomicrons, sendo
libertados directamente na veia porta, ao contrrio dos restantes cidos gordos que se
incorporam em quilomicrons e so transportados pelo sistema linftico.
C. Causas Gstricas
O estmago tem trs importantes funes na digesto. Serve de reservatrio dos ali-
mentos, auxilia no processo de digesto pela aco do suco gstrico e regula a entra-
da dos alimentos no intestino delgado. Estas actividades podem estar comprometidas
aps intervenes cirrgicas: Billroth I, Billroth II e vagotomia com piloroplastia. A
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
251
esteatorreia mais severa aps intervenes do tipo Billroth II, sendo consequncia
da diminuio da secreo cida e da proliferao bacteriana intestinal.
D.Causas Intestinais
D1. Anatmicas
- Sindrome do intestino curto
- Insuficincia arterial e isqumia intestinal
D2. Por leso ou deficincia da mucosa do intestino delgado
- Doena celaca e entidades relacionadas
- Sprue tropical
- Gastroenterite eosinoflica
- Enterite regional (doena de Crohn)
- Doena de Whipple
- Agentes teraputicos (neomicina, colchicina, metotrexato)
- Abetalipoproteinmia
- Acrodermatite enteroptica
- Enterite rdica
- Infeces
. Agudas: bactrias, vrus, fungos e parasitas
. Crnicas: tuberculose, sprue tropical, d. de Whipple
. Enteropatia por HIV
- Deficincia em lactase, sucrase-isomaltase, maltase-glucoamilase
- M absoro congnita de glicose-galactose
- Miscelnea: m nutrio, s. de Zollinger-Ellison
COMENTRIOS
Algumas destas entidades sero objecto de tratamento especfico em captulos ulte-
riores.
A gastroenterite eosinoflica uma entidade pouco comum, mas importante.
Numerosos eosinfilos infiltram o estmago e por vezes o intestino delgado. Alm
desta infiltrao celular, de predomnio na submucosa, h associadamente edema,
fibrose e dilatao vascular frequente. Tm sido descritos envolvimentos do esfago,
pncreas, apndice e clon.
A maioria dos doentes tm entre 30-40 anos de idade, a causa obscura (etiologia
alrgica?), h elevao srica das imunoglobulinas E, e a resposta corticoterpia
notvel. Os sintomas clnicos dependem do local preferencial de envolvimento. Podem
ocorrer vmitos devido a aperto antropilrico, ou do intestino delgado. A dor abdo-
Doenas do Aparelho Digestivo
252
minal comum. Podem surgir diarreia, m absoro e perda de peso. As perdas pro-
teicas podem ser significativas, e o envolvimento das serosas pode condicionar asci-
te e peritonite. caracterstica a eosinofilia perifrica.
O diagnstico estabelecido por bipsias do estmago e /ou jejuno, sendo necess-
ria a colheita de vrios fragmentos dado que a afeco pode ser multifocal. A predni-
solona o tratamento ideal.
Tem aumentado a listagem dos agentes teraputicos associados m absoro.
Alguns frmacos, como a neomicina, a colchicina, o metotrexato e a colestiramina
(que fixa os sais biliares) causam invariavelmente m absoro de gorduras, e even-
tualmente de outros nutrientes. A m absoro de folatos pode ocorrer com a fenfor-
mina, a fenitona e a plula contraceptiva.
D3. Por leses da submucosa
Leses infiltrativas
- Amiloidose
- Mastocitose sistmica
- Linfoma
Fibrose
- Enterite rdica
- Esclerose sistmica
Obstruo linftica
- Linfangiectasia intestinal
Vascular
- Isqumia intestinal
- Vasculites: doena de Behet, prpura de Henoch-Schnlein, arterite de
clulas gigantes, poliarterite nodosa e doena de Khlmeier-Degos (papulo-
se atrfica maligna).
COMENTRIOS
Algumas destas situaes sero tratadas em captulos ulteriores.
A amiloidose primria ou secundria pode atingir o intestino delgado e originar m
absoro, devido a envolvimento vascular da submucosa. O diagnstico feito por
bipsia rectal.
A mastocitose sistmica uma afeco rara. caracterizada pela acumulao anormal
de mastcitos (que libertam histamina), na pele, fgado, bao e medula ssea. Em
cerca de 50% dos casos h envolvimento do tracto gastrointestinal. A mucosa intes-
tinal evidencia atrofia mais ou menos marcada das vilosidades, com infiltrao de
mastcitos. Os sintomas gastrointestinais incluem: vmitos, dor abdominal, diarreia e
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
253
esteatorreia. A hipersecreo cida gstrica pode originar lcera pptica. Ocorrem por
vezes crises de taquicardia, flushing, prurido e cefaleias. Os inibidores H2 e o cromo-
glicato dissdico controlam a diarreia.
A linfangiectasia intestinal pode ser primria, ou secundria a obstruo dos linfti-
cos. No adulto, esta entidade pode ser induzida por factores mecnicos: tumor malig-
no intestinal, fibrose retroperitoneal, sarcoidose e pericardite constritiva. A obstruo
ou a hipoplasia dos vasos linfticos do intestino delgado causam aumento da pres-
so linftica intestinal, com dilatao dos vasos linfticos da mucosa, submucosa e
subserosa. Esta dilatao induz distoro da arquitectura das vilosidades. H exsuda-
o linftica, com perdas proteicas e lipdicas, induzindo hipoproteinmia com edema
perifrico, e esteatorreia.
D4. Distrbios da motilidade
Perturbaes endcrinas e metablicas
- Doenas da tiride
- Diabetes mellitus
- Hipoadrenalismo (?)
- Hipoparatiroidismo (?)
Pseudo-obstruo intestinal
Agentes teraputicos
- Drogas com efeito anticolinrgico (propantelina, benztropina e antidepresso-
res tricclicos)
COMENTRIOS
A diabetes mellitus e o hipotiroidismo originam hipomotilidade com proliferao bac-
teriana intestinal e esteatorreia eventual. O hipertiroidismo provoca diarreia por ace-
lerao do trnsito intestinal.
Os agentes teraputicos acima indicados podem induzir hipomotilidade intestinal com
proliferao bacteriana.
D5. Causas genticas
Abetalipoproteinmia
Doena de incluses das microvilosidades
Acrodermatite idioptica
COMENTRIOS
A abetalipoproteinmia uma doena rara, de natureza autossmica recessiva, carac-
terizada pelo facto de os triglicerdeos re-esterificados nos entercitos, no serem
Doenas do Aparelho Digestivo
254
englobados em quilomicrons, por ausncia da apolipoprotena B-48, que no sinte-
tizada nesta enfermidade. Os triglicerdeos acumulam-se nos entercitos, e tambm
nos hepatcitos. Os doentes tm dfice de vitaminas A, D, E e K. Dado que no exis-
tem quilomicrons para o transporte dos nutrientes essenciais para os tecidos, os
doentes tm deficincias de crescimento, e apresentam diarreia e esteatorreia. A defi-
cincia em vit. E induz acantocitose e anomalias neurolgicas: ataxia progressiva, reti-
nite pigmentar atpica e polineuropatia. Altas doses de vit. E podem prevenir ou esta-
bilizar estas complicaes neurolgicas.
A doena de incluses nas microvilosidades uma condio autossmica recessiva
caracterizada por anomalias na arquitectura das vilosidades e incluses citoplasmti-
cas apicais. Origina severa diarreia, esteatorreia e morte precoce.
A acrodermatite enteroptica, uma afeco autossmica recessiva, e as suas mani-
festaes estariam relacionadas com a deficincia em zinco. As leses cutneas e a
m absoro so as caractersticas desta entidade, que respondem teraputica com
zinco.
4. MEIOS DE DIAGNSTICO
So mltiplos os meios de diagnstico da m absoro e das suas causas:
A Endoscopia
B Bipsia intestinal
C Testes bioqumicos
D Exames microbiolgicos
E Testes hematolgicos
F Radiologia
A Endoscopia
O exame endoscpico gastroduodenal, a enteroscopia e a colonoscopia com visuali-
zao do leo, complementadas com bipsia, so estudos de muito interesse diagns-
tico no mbito dos quadros de m absoro.
Alm destes exames tradicionais, surgiu recentemente um outro meio endoscpico de
diagnstico, a videocpsula, que possibilita a visualizao do intestino delgado sem
necessidade de intubao do doente. Prev-se que possa ter interesse no estudo de
vrias patologias, nomeadamente relacionadas com situaes de m absoro.
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
255
Os exames endoscpicos convencionais, eventualmente complementados com bi-
psia, podem detectar as seguintes situaes do intestino delgado ocasionalmente
relacionadas com m absoro:
- Diverticulose
- Ulceraes
- Processos inflamatrios
- Processos neoplsicos
B Bipsia intestinal
A bipsia do intestino delgado pode ser realizada, de forma cega, mediante a utiliza-
o de sondas ou cpsulas perorais (cpsula de Crosby, sonda de Wood ou de Shiner,
sonda hidrulica para bipsias mltiplas), ou atravs de um duodenoscpio ou ente-
roscpio. Eventualmente podemos tambm colher bipsias do ileo mediante a colo-
noscopia, e do recto com a utilizao do rectoscpio.
A tcnica mais comummente utilizada a bipsia endoscpica do intestino delgado
proximal, que pode ser muito til, ou decisiva, no diagnstico das seguintes situaes:
Doenas do Aparelho Digestivo
256
Leses difusas da mucosa com achado histolgico que define o diagnstico
Doena celaca
Doena de Whipple
Abetalipoproteinmia
Hipogamaglobulinmia
Leses difusas da mucosa com m absoro mas sem achados especficos na bipsia
Sprue tropical
Deficincia em folato e Vit. B12
Enterite rdica
Sindrome de Zollinger-Ellison
Infeco intestinal por HIV
Leses multifocais da mucosa com achados tpicos mas com possvel erro de amostragem
Doenas parasitrias
Amiloidose
Doena de Crohn
Enterite eosinoflica
Linfangiectasia
Linfoma
Mastocitose
Doena intestinal imunoproliferativa (IPSID)
Mycobacteriumavium-intercelular
Quadro de m absoro com bipsia normal
Doena pancretica
Deficincia primria em dissacaridases
Doena heptica
INTERESSE DA BIPSIA DO INTESTINO DELGADO NO CONTEXTO DA M ABSORO
C Testes bioqumicos
Os testes bioquimicos actualmente disponveis destinam-se a avaliar quatro reas da
funo do intestino delgado:
(1) Absoro e m absoro de macronutrientes
(2) Proliferao bacteriana
(3) Integridade da barreira intestinal
(4) Motilidade e tempo de trnsito
(1) Absoro e m absoro de macronutrientes
Teste respiratrio com trioleina marcada com 13C. Trata-se de um teste recente, til
para estudar a m absoro por insuficincia pancretica ou doena da mucosa intes-
tinal. O substrato ingerido pelo doente objecto de degradao intestinal, com liber-
tao de 13CO2, que exalado na respirao. A quantidade exalada medida por
espectrometria de massa. Vem substituir o clssico teste da trioleina marcada com o
radioistopo 14C.
Anlise quantitativa da gordura fecal. A gordura fecal avaliada no volume fecal reco-
lhido durante 3 dias. um teste clssico, ainda utilizado nalguns centros, mas que
tende a ser substitudo pelo teste respiratrio. O valor normal de gordura nas fezes
de 24 horas, de 0-20 mmol.
Teste da D-Xilose. Visa estudar a integridade da mucosa intestinal em termos de capa-
cidade de absoro e avaliar se a esteatorreia motivada por leso da mucosa do
intestino delgado. A xilose uma pentose que absorvida, inalterada, na poro pro-
ximal do intestino delgado. A mensurao da xilose no sangue ou na urina, aps uma
dose oral, mede a capacidade global de absoro do intestino delgado. um teste
que tem limitaes, na medida em que influenciado por vrios factores: esvaziamen-
to gstrico, funo renal, proliferao bacteriana intestinal, estado de hidratao, pre-
sena de ascite, hipertenso portal, teraputica com aspirina, indometacina e neomi-
cina. Aps ingesto de 25 gr de D-Xilose, os valores normais no volume urinrio das
5 horas seguintes superior a 5 gr; cifras entre 4-5 gr so equvocas, e inferiores a
4 gr so muito sugestivas de m absoro.
Teste respiratrio do hidrognio. Quando uma dose fisiolgica de lactose ingerida
(at 20 gr de lactose, em funo da idade e do peso corporal), toda ela eficiente-
mente absorvida no intestino em indivduos com lactase suficiente na mucosa intes-
tinal. Contudo, se existe dfice em lactase, a lactase alcana o clon onde metabo-
lizada pela flora bacteriana, com produo de H2. Foi evidenciado que a quantidade
de H2 na respirao proporcional produzida no clon. Esta a base deste teste
respiratrio.
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
257
(2) Proliferao bacteriana
A proliferao bacteriana no intestino delgado definida como um aumento do nme-
ro ou alterao no tipo de flora entrica de suficiente magnitude para ter significado
clnico (>106 por grama de contedo do tracto intestinal). O significado clnico usual-
mente definido pela presena de dor, ou sinais de m absoro. Esta situao respon-
de bem antibioterpia.
Esta proliferao bacteriana ocorre em diferentes partes do intestino delgado, quan-
do esto perturbados um ou mais dos seguintes mecanismos:
a)Diminuio da acidez gstrica
b) Diminuio da actividade propulsiva intestinal
c) Incompetncia da vlvula ileo-cecal, permitindo o refluxo das bactrias do clon
d) Diminuio da secreo de agentes antibacterianos, designadamente imunoglo-
bulina A, cidos biliares e defensinas.
Tm sido sugeridos vrios testes para avaliar a proliferao bacteriana: o teste respi-
ratrio da glicose, o teste respiratrio da lactulose e o teste respiratrio com
13
C/
14
C-
Xilose, provavelmente o mais fidedigno. Este teste baseia-se no mesmo princpio dos
outros: a capacidade das bactrias metabolizarem uma dose de 1 gr de
14
C-Xilose, com
deteco do
14
CO
2
expirado aps 4 horas.
(3) Integridade da barreira intestinal
Esta rea de estudo provavelmente a mais excitante das duas ltimas dcadas, mas
ainda no se encontra muito divulgada. H vrias situaes em que a barreira intes-
tinal est alterada, e existem vrias variantes do mtodo de deteco.
O teste de permeabilidade de Menzies, utilizando a dupla lactulose/rhamnose, ou a
dupla lactulose/manitol, baseia-se no facto de que foram evidenciadas claras diferen-
as na captao de monossacardeos ou dissacardeos na mucosa lesada. Os primei-
ros seguem uma via transcelular, enquanto que os segundos so captados unicamen-
te por via paracelular, reflectindo perda da integridade das junes entre os enterci-
tos.
Mais recentemente, foram descritas vrias tcnicas de cromatografia lquida de alta
resoluo, que possibilitam uma melhor resoluo dos aucares no soro e na urina.
Este teste avalia alteraes na permeabilidade que podem ocorrer em consequncia
de infeces, da aco dos AINEs, da quimioterpia, da doena de Crohn e da doen-
a celaca. Embora no seja um teste especfico, um indicador importante de seve-
ridade, podendo ser utilizado na monitorizao da actividade de uma doena e da
possibilidade de uma recidiva.
Doenas do Aparelho Digestivo
258
(4) Motilidade e tempo de trnsito
O efeito de alteraes no esvaziamento gstrico e na funo motora do intestino del-
gado pode avaliar-se mediante dois testes: o teste respiratrio do esvaziamento gs-
trico, utilizando o cido octanico marcado com
13
C, ou o cido actico marcado igual-
mente com este istopo estvel; e o teste da lactose/ureide, marcado tambm com
13
C, que avalia o tempo de trnsito no intestino delgado. A conjugao destes dois
testes respiratrios pode ser de grande utilidade para uma avaliao de quadros de
dismotilidade no contexto da m absoro.
D Exames microbiolgicos
Idealmente, uma amostra fresca de 20-40 gr de fezes deve ser examinada dentro de
30 minutos da colheita. Os agentes patognicos detectados, ocasionalmente relacio-
nados com quadros de m absoro, podem ser os seguintes:
(1) Parasitas
Protozorios
Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
Balantidium coli
Criptosporidium parvum
Isospora belli
Microscoporidia
Nemtodos
Ancylostoma duodenale
Ascaris lumbricides
Strongyloides stercoralis
Trichuris trichiura
Necator americanus
Tremtodos
Schistosoma mansoni
Schistosoma japonicum
Echinostoma species
Fasciolopsis buski
Cstodos
Diphyllobothrium latum
Hymenolepsis nana
Hymenolepsis diminuta
Taenia saginata/Taenia solium
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
259
(2) Bactrias
Agentes bacterianos detectveis em cultura:
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus e Clostridium perfringens
Clostridium difficile
E. Coli enteropatognica, toxignica, invasiva e hemorrgica
Salmonela
Shigella
Yersinia enterocolitica
Vibrio cholerae
Campylobacter
(3) Vrus
Rotavirus (diagnstico por ELISA)
Agentes Norwalk-like (diagnstico por microscopia electrnica ou por
ELISA/RIA).
E Testes hematolgicos
So vrios os testes hematolgicos com interesse na abordagem do doente com uma
sndrome de m absoro:
(1) Hemoglobina e frmula sangunea
Hemoglobina
Contagem de reticulcitos
ndices dos glbulos vermelhos
Morfologia dos glbulos vermelhos
Glbulos brancos e sua diferenciao
Contagem de plaquetas
(2) Resposta na fase aguda
Protena C-reactiva
Velocidade de sedimentao
Viscosidade plasmtica
(3) Testes de coagulao
Tempo de protrombina
APTT
Marcadores de coagulao, fibrinlise e trombofilia na doena de Crohn
Doenas do Aparelho Digestivo
260
(4) Metabolismo do ferro, folato e Vit. B
12
Ferro
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
261
PARMETROS DO FERRO EM VRIAS SITUAES
Folato
O folato srico costuma baixar nos quadros de m absoro. Alis, uma das vitami-
nas mais frequentemente em dfice aps cirurgia da parte alta do intestino delgado,
no doente com m nutrio ou m absoro, ou nas situaes proliferativas da pele,
intestino ou medula ssea que consomem muito folato.
Vit. B
12
O teste de Schilling tem interesse na distino entre anemia perniciosa e m absor-
o, quando o valor srico da Vit. B
12
est baixo. Avalia a absoro de Vit. B
12
, median-
te a deteco da quantidade excretada na urina, aps a ingesto de uma dose oral
de Vit. B
12
marcada com um radioistopo, associado ou no a factor intrnseco.
Ferritina (g/L) 10-150 < 10 > 150 > 250
Ferro (mol/L) 8-28 < 8 < 8 > 30
TIBC * (mol/L) 45-72 45-96 < 40 < 45
Transferrina (gr/L) 2-3.9 > 4 < 2 < 2
Saturao da 15-48 < 15 < 25 > 60
transferrina (%)
Normal Carncia em ferro Doena crnica Sobrecarga em ferro
* TIBC Total iron binding capacity
Normal 11-32 11-32
Anemia perniciosa 0-6.8 3.1-30
M absoro < 11 < 11
Sndrome da ansa cega * < 11 < 11
INTERPRETAO DOS RESULTADOS: % DE RADIOACTIVIDADE EXCRETADA NAS 24 HORAS
B12 B12 + Factor intrnseco
* Ambos os valores normalizam aps antibioterpia
F Radiologia
No mbito da m absoro, o estudo radiolgico mais importante o exame barita-
do do intestino delgado, idealmente por enteroclise.
Em termos gerais, este estudo radiolgico pode evidenciar aspectos caractersticos de
esteatorreia ou definir alteraes especficas.
(1) Caractersticas radiolgicas de esteatorreia
Dilatao, segmentao, floculao e fragmentao do brio
(2) Condies com alteraes especficas
Doena de Crohn
Linfoma
Esclerodermia
Resseco intestinal
Ansa cega
Diverticulose jejunal
Estenoses e fstulas
Outras doenas do intestino delgado
5. TRATAMENTO
O tratamento de uma sndrome de m absoro implica, por um lado, ministrar um
tratamento de suporte, para normalizar carncias em vitaminas, sais minerais e calo-
rias. Por outro lado, fundamental equacionar o tratamento especfico da situao.
Em captulos subsequentes, abordaremos o tratamento das principais situaes de m
absoro.
Doenas do Aparelho Digestivo
262
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
263
INTESTINO - Sndromes de M Absoro
263
REFERNCIAS
Ratnaike RN (Ed.). Small Bowel Disorders. Arnold 2000.
Greenberger NJ. Treatment of Malabsorptive Disorders. In: Wolfe MM (Ed). Therapy of Digestive Disorders. WB Saunders Co 2000:491-502.
Riley AS, Marsh MN. Maldigestion and Malabsorption. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds). Sleisenger & Fordtrans
Gastrointestinal and Liver Disease. WB Saunders Co 1998:1501-1522.
Field M (Ed). Diarrheal Diseases. Elsevier, London, 1991.
Fisher L (Ed). Malabsorption and Nutritional Status ans Support. Gastroenterol Clin North Am 1989;18(3).
Freitas D. Sindromes de Malabsoro. In: Freitas D (Ed). Temas de Gastrenterologia (1 volume, 2 edio).
Boehringer-Ingelheim 1989:107-126.
Scharnke W, Dancygier H. Whipples diseasea rare systemic disease. Current status of diagnosis and treatment.
Dtsch Med Wochenschr. 2001 Aug 24;126(34-35):957-62.
Vahedi K, Bouhnik Y, Matuchansky C. Celiac disease of the adult. Gastroenterol Clin Biol. 2001 May;25(5):485-94.
Talbotec C, Schmitz J. Intestinal malabsorption in the child. Rev Prat. 2001 May 15;51(9):983-7.
Crenn P. Intestinal failure. Rev Prat. 2001 May 15;51(9):977-82.
Laugier R, Grandval P, Ville E. Maldigestion during chronic pancreatitis. Rev Prat. 2001 May 15;51(9):973-6.
Nancey S, Flourie B. Specific carbohydrate malabsorption. Rev Prat. 2001 May 15;51(9):969-72.
Cellier C, Grosdidier E. Adult celiac disease. Rev Prat. 2001 May 15;51(9):959-63.
Soule JC. Clinical and biological syndrome of intestinal malabsorption: diagnostic tests. Rev Prat. 2001 May 15;51(9):953-8.
Dutly F, Altwegg M. Whipples disease and Tropheryma whippelii. Clin Microbiol Rev. 2001 Jul;14(3):561-83.
Wahnschaffe U, Riecken EO, Schulzke JD. Diagnosis of sprue. Dtsch Med Wochenschr. 2001 May 25;126(21):638-42.
Pascual S, Martinez J, Perez-Mateo M. The intestinal barrier: functional disorders in digestive and non-digestive diseases.
Gastroenterol Hepatol. 2001 May;24(5):256-67.
Saavedra JM. Clinical applications of probiotic agents. Am J Clin Nutr. 2001 Jun;73(6):1147S-1151S.
Fasano A. Celiac disease: the past, the present, the future. Pediatrics. 2001 Apr;107(4):768-70.
Ciclitira PJ. AGA technical review on Celiac Sprue. American Gastroenterological Association. Gastroenterology. 2001 May;120(6):1526-40.
Ebert EC. Maldigestion and malabsorption. Dis Mon. 2001 Feb;47(2):49-68.
Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving spectrum.
Gastroenterology. 2001 Feb;120(3):636-51.
Oteo J, Blanco JR. Whipple disease. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2000 Oct;18(8):428-30.
Fenollar F, Raoult D. Whipples disease. Clin Diagn Lab Immunol. 2001 Jan;8(1):1-8.
Ratnaike RN. Whipples disease. Postgrad Med J. 2000 Dec;76(902):760-6.
Freeman HJ. Small intestinal mucosal biopsy for investigation of diarrhea and malabsorption in adults. Gastrointest Endosc Clin
N Am. 2000 Oct;10(4):739-53.
Biagi F, Lorenzini P, Corazza GR. Literature review on the clinical relationship between ulcerative jejunoileitis, coeliac disease, and enteropat-
hy-associated T-cell. Scand J Gastroenterol. 2000 Aug;35(8):785-90.
Dieterich W, Storch WB, Schuppan D. Serum antibodies in celiac disease. Clin Lab. 2000;46(7-8):361-4.
OFarrelly C. Is villous atrophy always and only the result of gluten sensitive disease of the intestine? Eur J Gastroenterol
Hepatol. 2000 Jun;12(6):605-8.
James MW, Scott BB. Endomysial antibody in the diagnosis and management of coeliac disease. Postgrad Med J. 2000 Aug;76(898):466-8.
Marteau P, Rault D, Gehin R. Lactose in diets used for digestive disorders. Gastroenterol Clin Biol. 1999 Jun;23(5 Pt 2):B101-5.
Scolapio JS. Effect of growth hormone and glutamine on the short bowel: five years later. Gut. 2000 Aug;47(2):164.
Ryan BM, Kelleher D. Refractory celiac disease. Gastroenterology. 2000 Jul;119(1):243-51.
Schuppan D. Current concepts of celiac disease pathogenesis. Gastroenterology. 2000 Jul;119(1):234-42.
Roberfroid MB. Prebiotics and probiotics: are they functional foods? Am J Clin Nutr. 2000 Jun;71(6 Suppl):1682S-7S;
Suzer T, Demirkan N, Tahta K, Coskun E, Cetin B. Whipples disease confined to the central nervous system: case report and review of the
literature. Scand J Infect Dis. 1999;31(4):411-4.
Craig RM, Ehrenpreis ED. D-xylose testing. J Clin Gastroenterol. 1999 Sep;29(2):143-50.
Shaw AD, Davies GJ. Lactose intolerance: problems in diagnosis and treatment. J Clin Gastroenterol. 1999 Apr;28(3):208-16.
Drancourt M. Tropheryma whippelii, an emerging intracellular pathogen causing Whipple disease. Presse Med. 1999 Feb 27;28(8):435-9, 433.
Doenas do Aparelho Digestivo
INTESTINO - Doena Celaca
265
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XI
DOENA CELACA
1. Definio
2. Epidemiologia
3. Patofisiologia
4. Clnica
5. Diagnstico
6. Complicaes
7. Tratamento
265
Doenas do Aparelho Digestivo
1. DEFINIO
A doena celaca, ou enteropatia sensvel ao glten, caracterizada por leso difusa
da mucosa jejunal desencadeada pelo glten, uma protena existente no trigo, cen-
teio e cevada.
A expresso da doena variada, podendo definir-se os seguintes tipos:
(a) Doena celaca tpica
uma doena na sua expresso completa, com atrofia das vilosidades e sinais tpi-
cos de m absoro.
(b) Doena celaca atpica
uma forma com expresso completa no plano histolgico, associada a manifes-
taes atpicas: letargia, anemia, pequena estatura, atraso na puberdade, artral-
gias e infertilidade.
(c) Doena celaca silenciosa
Trata-se de uma situao detectada aps screening serolgico, caracterizada pela
existncia de um padro histolgico de doena celaca em doente assintomtico.
(d) Doena celaca potencial
Embora a mucosa intestinal se encontre aparentemente normal, existem anomalias
subtis, designadamente aumento dos linfcitos intraepiteliais. Estes doentes apre-
sentam positividade do anticorpo anti-endomsio, podendo apresentar-se assinto-
mticos ou com sintomas intestinais. Com o tempo, podem desenvolver um qua-
dro florido de doena celaca.
2. EPIDEMIOLOGIA
uma das mais comuns e crnicas enfermidades nos pases ocidentais. Na Europa, a
prevalncia situa-se entre 0.3 1%.
S uma pequena percentagem de doentes com esta afeco so detectados na roti-
na clnica. Muitos escapam ao diagnstico, a no ser que sejam identificados por
meios serolgicos. Aceita-se presentemente o conceito do iceberg celaco, traduzin-
do o facto de que s uma diminuta percentagem de doentes so objecto de um diag-
nstico definitivo de doena celaca.
Seja qual for a forma de expresso da doena, todos os doentes celacos esto expos-
tos s complicaes desta enfermidade, nomeadamente anemia, infertilidade, osteo-
porose e linfoma.
INTESTINO - Doena Celaca
267
Esto identificados os seguintes factores de risco:
Gentica. O componente major da predisposio gentica localiza-se na regio HLA do
cromossoma 6. A doena celaca est fortemente associada aos antignios HLA clas-
se II e cerca de 90% dos doentes evidenciam a presena dos alelos HLA, DQA1*0501
e DQB1* 0201.
Idade. Em estudos de rastreio apurou-se uma relao inversa entre a prevalncia da
doena celaca e a idade.
Sexo. Prevalncia ligeiramente aumentada no sexo feminino.
Dieta. A doena celaca s aparece quando o glten est presente na dieta.
Outros factores de risco. Diabetes mellitus de tipo 1, doenas auto-imunes do fgado,
tiride e pulmo, sindrome de Sjgren, DII, sindrome de Down e deficincia em IgA (a
prevalncia aumenta dez vezes nesta ltima situao).
Relativamente incidncia, varivel nos vrios pases Europeus, desde 0.078 por
1000 nascimentos na Grcia, at 3.51 na Sucia. Os dados actuais indicam um aumen-
to na incidncia, provavelmente em consequncia dos actuais testes de rastreio da
doena celaca.
3. PATOFISIOLOGIA
A doena celaca um distrbio multifactorial, dependente de factores genticos e
ambientais para a sua expresso. Embora a sua patognese no esteja ainda comple-
tamente esclarecida, h evidncia que sugere tratar-se de um processo auto-imune
desencadeado e perpetuado por um antignio externo, o glten da dieta.
O termo glten genericamente aplicado a uma famlia de protenas encontradas no
trigo, na cevada e no centeio. Todas as protenas que so agressivas para o doente
celaco so ricas em prolina e glutamina, e so colectivamente designadas por prola-
minas. As fraces de prolaminas dos vrios cereais tm diferentes nomes: gliadina
(trigo), secalina (centeio) e hordeina (cevada). As prolaminas da aveia representam
somente 5-15% do total de protenas, o que explica a tolerncia do doente celaco a
este cereal. A protena mais txica a gliadina, que compreende cerca de 50% das
protenas dos cereais. Numa simples variedade de trigo, h cerca de 45 diferentes glia-
dinas, que so subdivididas em fraces a, b, gama e w, de acordo com a sua mobi-
lidade electrofortica.
Doenas do Aparelho Digestivo
268
Foi determinada a sequncia da A-gliadina, uma protena com 266 aminocidos.
Pptidos derivados da A-gliadina tm efeitos lesivos na doena celaca, de acordo com
estudos in-vitro e in-vivo.
As anomalias da mucosa jejunal constituem o aspecto essencial da doena celaca.
Podem resumir-se nos seguintes pontos:
(a) Mucosa plana com aspecto em mosaico em microscopia de disseco.
(b) Ausncia de vilosidades. Criptas hipertrofiadas.
(c) Clulas da mucosa superficial de aspecto cbito, aparentando estratificao,
com bordadura em escova discretamente desenvolvida.
(d) Infiltrado denso de linfcitos e clulas plasmticas no crion. Aumento dos lin-
fcitos intraepiteliais.
Embora este padro histolgico seja tpico da doena celaca, h outras entidades que
podem apresentar atrofia das vilosidades intestinais:
Sprue colagnico
Intolerncia soja
Linfoma mediterrnico
Gastroenterite
M nutrio proteica
Sprue tropical
Enteropatia por HIV
Gastroenterite eosinoflica
Sprue refractrio
Intolerncia protena do leite de vaca
Sndromes de imunodeficincia
Kwashiorkor
Parasitoses
Isqumia intestinal
Proliferao bacteriana
Leso por drogas ou por radiaes
Recentemente provou-se que existe um espectro na sensibilidade ao glten, com as
correspondentes graduaes nas manifestaes histolgicas. De facto, pensa-se que
a tpica mucosa atrfica da doena celaca o estdio final de uma imunoreaco
dependente das clulas T, que evolui em trs fases:
(a) Grau I Infiltrao isolada de linfcitos intraepiteliais, especialmente linfcitos
T CD 8
+
, com mucosa estruturalmente normal;
(b) Grau II Leso hiperplstica com hipertrofia das criptas;
(c) Grau III Estdio final, com destruio das vilosidades.
INTESTINO - Doena Celaca
269
Embora a enteropatia celaca se localize preponderantemente no duodeno e no jeju-
no proximal, a extenso da doena varivel, podendo invadir reas mais distais.
A doena celaca resulta provavelmente de uma agresso de base imunolgica. Com
efeito, foi demonstrado recentemente que a transglutaminase, uma enzima tissular,
o auto-antignio responsvel pela positividade do anticorpo anti-endomsio. A glia-
dina um excelente substrato da transglutaminase, dado o seu elevado teor em glu-
tamina (cerca de 30%). Estes achados suportam a teoria auto-imune por vrias razes:
(a) A leso do epitlio intestinal, induzida pelo glten ou por outros agentes (por
ex. vrus) pode desencadear a libertao extracelular de transglutaminase,
sobretudo a partir de clulas mesenquimatosas da lmina prpria.
(b) A gliadina transformada em gliadina/transglutaminase.
(c) Neo-epitopos iniciariam uma resposta imunolgica em indivduos genticamen-
te predispostos, directamente contra a gliadina e a transglutaminase.
A provvel sequncia de eventos que culminaria na leso intestinal seria:
(a) A deaminao da gliadina pela transglutaminase origina neo-epitopos que se
ligam a molculas HLA-DQ2, localizadas nas clulas apresentadoras de antig-
nios (por ex. macrfagos).
(b) A interaco entre pptidos da gliadina e molculas HLA activa as clulas intes-
tinais T, atravs do respectivo receptor.
(c) A libertao de citocinas pr-inflamatrias (or ex. IFN-gama, TNF-a e IL-2) pode-
ria lesar os entercitos, aumentar a proliferao das criptas e originar o qua-
dro histopatolgico final da doena celaca.
4. CLNICA
A doena celaca apresenta um amplo espectro de manifestaes clnicas. O diagns-
tico ser frequentemente omitido a no ser que seja activamente considerado em
doentes com aspectos clnicos e laboratoriais que indiciam essa possibilidade. So
caractersticas clnicas e laboratoriais sugestivas de doena celaca:
Histria de doena celaca na infncia;
Dor abdominal recorrente na infncia;
Atraso na puberdade;
Baixa estatura;
Perda de peso;
Diarreia;
Sindrome de m absoro;
Doenas do Aparelho Digestivo
270
lceras aftosas recorrentes na boca;
Anemia, deficincia em ferro e folato;
Hipocalcmia, osteoporose, osteomalcia;
Infertilidade e abortos recorrentes;
Distrbios neurolgicos inexplicveis;
Hipertransaminasmia no esclarecida.
Tal como na prtica peditrica, o adulto pode apresentar formas tpicas ou atpicas de
doena celaca, ou ainda formas silenciosas. A maioria dos adultos apresentam quei-
xas triviais ou no especficas. Muitas vezes o diagnstico presumido com base em
anomalias laboratoriais detectadas em controlos de rotina: anemia, elevao do volu-
me corpuscular mdio, deficincia em ferro ou folato, hipocalcmia com hipofosfat-
mia e elevao da fosfatase alcalina, indicando osteomalcia. Alguns casos so diag-
nosticados pela histria familiar ou em programas de rastreio.
Os sintomas e sinais de apresentao clnica da doena celaca podem ser:
Muitas afeces ocorrem em associao com a doena celaca, o que pode dificultar
o diagnstico:
INTESTINO - Doena Celaca
271
Gerais Hematolgicos
Baixa estatura Anemia
Perda de peso Deficincia em ferro e folato
Lassido / letargia Volume corpuscular mdio ?
Edema Manifestaes hemorrgicas
Equimoses Bioqumicos
Koiloniquia Hipocalcmia
Gastrointestinais Fosfatase alcalina ?
Anorexia, nuseas, vmitos Hipertransaminasmia
Glossite, lceras na boca Reproduo
Distenso abdominal e dor Infertilidade
Flatulncia Abortos frequentes
Diarreia, obstipao Msculo-esquelticos
Psiquitricos Osteomalcia, osteoporose
Depresso Miopatias
Ansiedade Espasmos, tetania, parestesias
Neurolgicos Renal
Neuropatia perifrica Diurese nocturna
Ataxia Pele
Epilepsia Dermatite herpetiforme
Pigmentao
SINTOMAS E SINAIS DA DOENA CELACA
Diabetes mellitus tipo 1
Doena heptica auto-imune
Doenas da tiride
Pneumopatias (asma e alveolite fibrosante)
Doena inflamatria intestinal
Sndroma de Sjgren
Distrbios nas paratirides
Deficincia em IgA
5.DIAGNSTICO
Um elevado ndice de suspeio essencial para identificar doentes com enteropatia
por glten. Uma vez considerada essa possibilidade, so os seguintes os testes que
confirmam o diagnstico.
(1) Testes hematolgicos e bioqumicos
(2) Bipsia do intestino delgado
(3) Marcadores serolgicos
(4) Testes de absoro intestinal
(5) Imagiologia
(1) Testes hematolgicos e bioqumicos
Os achados que usualmente se detectam so:
Anemia
ferro, folato e vit. B
12
no soro
Volume corpuscular mdio (por carncia em ferro) ou (por carncia em folato
e vit. B
12
)
Hipoesplenismo (trombocitose, corpos de Howell-Jolly)
Eventualmente pancitopenia
Tempo de protrombina prolongado (raro)
Linfocitopenia ocasional
Hipocalcmia, hipofosfatmia e fosfatase alcalina elevada (osteomalcia)
Transaminases (ocasional)
Hipoalbuminmia
Deficincia em IgA
Doenas do Aparelho Digestivo
272
(2) Bipsia intestinal
Deve ser realizada em todos os doentes com suspeita de doena celaca. Actualmente,
a maioria das bipsias no adulto so obtidas atravs do fibro ou videoendoscpio.
Os achados histolgicos tpicos da doena celaca foram j explicitados. Com a insti-
tuio de uma dieta isenta em glten, h uma restaurao integral da mucosa intes-
tinal.
Sobretudo na criana, h quem proponha um teste de sobrecarga com glten aps
12-24 meses de teraputica da doena com dieta sem essa substncia. Uma nova bi-
psia obtida quando reaparecem os sintomas, ou 3-6 meses aps essa sobrecarga.
A deteriorao da arquitectura histolgica confirma a persistncia da intolerncia ao
glten. Este teste actualmente utilizado s em casos seleccionados, nomeadamen-
te quando h dvidas no diagnstico, nos casos diagnosticados antes dos 2 anos de
idade (confuso com outras enteropatias) ou no jvem que deseja abandonar a dieta
sem glten. A sobrecarga com glten no deve ser realizada antes dos 6 anos de
idade, para evitar leses dentrias. No adulto, este teste raramente utilizado.
(3) Marcadores serolgicos
Os testes serolgicos esto especialmente indicados nas seguintes situaes:
(a) Se a probabilidade de doena celaca baixa. Um teste negativo evita a bi-
psia.
(b) Nos rastreios de grupos de particular risco, designadamente em parentes pr-
ximos de doentes celacos.
(c) Na monitorizao da aderncia teraputica sem glten.
(d) No diagnstico da doena em crianas, evitando as bipsias.
Os marcadores serolgicos so os seguintes:
Anticorpo antigliadina
Anticorpo antiendomsio
Anticorpo antireticulina
Anticorpo antitransglutaminase
O anticorpo antigliadina, classe IgA, avaliado por mtodos ELISA, tem uma sensibili-
dade de 75-93% e uma elevada especificidade (>95%). importante sublinhar que h
vrias entidades onde esse anticorpo pode surgir positivo (ao contrrio do anticorpo
antiendomsio):
Esofagite
Gastroenterite recente
Colite ulcerosa
INTESTINO - Doena Celaca
273
Fibrose qustica
Sindrome de Down
Gastrite
Alergia protena do leite de vaca
Doena de Crohn
Artrite reumatide
Os anticorpos antiendomsio dirigem-se contra antignios da matriz colagnica dos
tecidos. O mtodo usual de deteco do IgA deste anticorpo por imunofluorescn-
cia indirecta. A especificidade deste teste aproxima-se dos 100%. A sensibilidade ronda
os 90%, pelo que conveniente utilizar mais do que um teste.
Os anticorpos antireticulina reagem com fibrilhas (reticulina) do tecido conectivo extra-
celular. So detectadas por imunofluoescncia indirecta. A sua sensibilidade inferior
dos anticorpos antiendomsio.
Os anticorpos anti-transglutaminase encontram-se em fase de desenvolvimento, aven-
tando-se a hiptese de poderem vir substituir os testes convencionais.
(4) Testes de m absoro
Esto descritos no capitulo deste livro sobre Sndromes de M Absoro.
(5) Imagiologia
No necessrio realizar o estudo baritado do intestino delgado em todos os doen-
tes. As principais indicaes deste exame so:
- Doentes severamente afectados, com perda de peso, dores abdominais, sintomas
de obstruo ou com massa abdominal;
- Exames laboratoriais muito alterados (por ex. anemia severa, acentuada baixa de
albumina);
- Sangue oculto nas fezes;
- M resposta dieta sem glten, desde incio, ou aps um perodo de boa res-
posta (hiptese de complicaes da doena celaca, designadamente linfoma ou
carcinoma).
- Em certos casos, designadamente quando h suspeita de complicaes, impor-
tante realizar outros estudos imagiolgicos: Ecografia, TAC ou Ressonncia
Magntica.
Doenas do Aparelho Digestivo
274
6. COMPLICAES
As potenciais complicaes da doena celaca so:
(1) Malignas
Linfoma
Carcinoma do esfago
Carcinoma do jejuno
(2) No malignas
Distrbios no metabolismo sseo
Atrofia esplnica e hipoesplenismo
Perturbaes neuro-psiquitricas
Distrbios na reproduo
Jejunoilete ulcerativa
Cavitao de gnglios do mesentrio
Estas complicaes surgem sobretudo nos casos em que no se fez o diagnstico de
doena celaca existente, ou nos doentes que no aderem teraputica sem glten.
A etiologia das complicaes malignas desconhecida, aventando-se vrias hipte-
ses:
A leso da mucosa pr-maligna
Carcinognios podem facilmente penetrar numa mucosa permevel
A mucosa pode ser deficiente em enzimas que anulam esses carcinognios
Anomalias no sistema imunitrio podem predispor malignizao
O status HLA pode ter o mesmo efeito
A prevalncia das leses malignas desconhecida. Contudo, dados de alguns grupos
de doentes seguidos durante muitos anos, evidenciam que a prevalncia dos cancros
gastrointestinais de 3-11%, sendo de 0-7% a prevalncia dos linfomas.
O linfoma tem origem nas clulas T, sendo actualmente designado de linfoma de clu-
las T associado a enteropatia (EATL). Este tipo de linfoma tem duas formas de apre-
sentao: (a) o diagnstico de doena celaca precede claramente o incio dos sinto-
mas da malignizao. Estes doentes responderam inicialmente muito bem dieta sem
glten, mas depois deteriorou-se o seu estado pelo desenvolvimento do linfoma; (2)
a doena celaca e o linfoma aparecem conjuntamente, dentro de um curto intervalo
de tempo.
Os principais sintomas clnicos do linfoma so: perda de peso, letargia, dor abdomi-
nal, fraqueza muscular, pirexia e linfadenopatia. Eventualmente podem surgir compli-
caes: perfurao, obstruo e hemorragia.
INTESTINO - Doena Celaca
275
O diagnstico de linfoma pode ser difcil, dada a confuso eventual com sintomas da
doena celaca. Cerca de 1/3 dos casos so diagnosticados na autpsia. essencial
realizar um estudo baritado do intestino delgado, que define frequentemente a pre-
sena de leses: segmentos estenosados, irregulares e mltiplos. A enteroscopia con-
vencional pode tambem ser til pois a maioria dos linfomas situam-se no jejuno,
ainda que seja de dificil execuo e eventualmente perigosa. A nova videosonda ter
aqui provavelmente uma indicao particular. No est definido o valor diagnstico
da ecografia, da TAC e da RM nessa situao. Por vezes, s a laparotomia explorado-
ra define o diagnstico. A cirurgia, a radioterpia e a quimioterpia so as modalida-
des de tratamento, dependentes da localizao e do estadiamento do linfoma.
Quanto s complicaes no malignas, deve sublinhar-se que a doena celaca predis-
pe a anomalias do metabolismo sseo e do clcio, de que podem resultar raquitis-
mo, osteomalcia e osteoporose. A dieta sem glten o tratamento mais eficaz des-
tas complicaes, sobretudo em crianas. No adulto, h necessidade eventual de com-
plementar essa teraputica com suplementos de clcio, vit. D, substituio hormonal
ou bisfosfonatos.
O hipoesplenismo, com ou sem atrofia esplnica, pode afectar at 70% dos doentes
adultos. Predispe eventualmente a infeces de repetio. No ocorre nas crianas.
Desconhece-se a prevalncia de distrbios neuro-psiquitricos na doena celaca.
Alguns doentes podem apresentar: ataxia, neuropatia perifrica ou epilepsia (3-5%).
A depresso afecta cerca de 10% dos doentes celacos.
Perturbaes da reproduo so eventuais complicaes da doena celaca. A menar-
ca tardia e a menopausa precoce em doentes no tratados. A doena celaca
causa de infertilidade, eventualmente corrigida com dieta sem glten e cido flico.
O aborto frequente outra complicao na doena no tratada.
A jejunoilete ulcerosa surge usualmente no contexto da doena celaca, ainda que
possa ocorrer isoladamente. Febre, anorexia, desidratao, edema, diarreia e dor
abdominal so queixa usuais. Trata-se de uma situao clnica severa que exige inter-
namento hospitalar e tratamento de suporte associado a esterides por via endove-
nosa. Eventualmente h necessidade de associar azatioprina. A cirurgia obrigatria
quando o processo se complica de perfurao, obstruo ou hemorragia. uma com-
plicao sria, com alta taxa de mortalidade.
A cavitao de gnglios mesentricos uma complicao rara, ainda que, com moder-
nas tcnicas imagiolgicas, surja com mais frequncia. Trata-se de uma complicao
grave, requerendo tratamento de suporte e vigilncia apertada.
Doenas do Aparelho Digestivo
276
7. TRATAMENTO
O tratamento da doena celaca consiste na eliminao radical do glten na dieta.
imperioso retirar da alimentao o trigo, o centeio e a cevada, podendo ser consumi-
dos o arroz e o milho. O glten da aveia bem tolerado por muitos doentes. Dado
que o glten do trigo amplamente consumido em dietas de tipo europeu, impe-se
um aconselhamento diettico rigoroso, persuadindo o doente da necessidade de uma
absoluta aderncia ao regime alimentar prescrito. A ausncia de remisso clnica
reflecte quase sempre uma incompleta eliminao do glten da dieta. Esta restrio
diettica deve ser prescrita no s aos doentes sintomticos, mas tambm nas for-
mas subclnicas e assintomticas. Nas raras situaes em que no h resposta ao regi-
me sem glten, apesar da indiscutvel aderncia do doente, necessria a teraputi-
ca com esterides, azatioprina ou ciclosporina.
Aps o inicio da teraputica, os marcadores serolgicos normalizam passados alguns
meses. Esto indicados, por isso, na monitorizao da aderncia do doente ao regi-
me diettico.
Os doentes celacos devem ser vigiados durante toda a vida, preferivelmente num cen-
tro especializado. Por outro lado, deve ser feito o rastreio aos parentes prximos, uti-
lizando os testes serolgicos.
DERMATITE HERPETIFORME (DH)
uma doena que s se desenvolve em doentes com doena celaca.
Prevalncia na Europa: 10-60/100.000 habitantes.
semelhana do que sucede na doena celaca, esta dermatite associa-se ao hetero-
dmero DQ1*0501, DQ1*0201.
Etiologia ainda no esclarecida.
Clnica:
Rash. Pequenas mculas eritematosas que se transformam em vesculas tensas,
brilhantes, cheias de um fludo claro, com involuo ao cabo de 7-10 dias. Do pru-
rido e ardor. Este rash tem uma distribuio simtrica, poupando as palmas das
mos e as plantas dos ps. As leses atingem sobretudo as zonas dos cotovelos,
antebraos e joelhos.
Enteropatia. Mais de 90% de doentes com DH no tm sintomas gastrointestinais.
Alguns queixam-se de diarreia e flatulncia. Em 65-75% dos doentes, existe atro-
fia das vilosidades na parte alta do intestino delgado. As leses costumam ser mul-
tifocais, pelo que h necessidade de colher vrias bipsias.
Perturbaes endcrinas e do tecido conectivo. Ocorrem em cerca de 5% dos
doentes com DH. O problema endcrino mais comum a doena tiroideia auto-
imune. Segue-se a diabetes mellitus tipo 1. Dentre as perturbaes do conectivo
destaca-se a ocorrncia eventual de esclerodermia, lupus eritematoso, artrite reu-
INTESTINO - Doena Celaca
277
matide e sindrome de Sjgren.
Malignizao. O linfoma, ou outros tipos de neoplasia maligna, podem complicar
a evoluo da DH.
Diagnstico: (1) Demonstrao de IgA em zonas de pele intacta, por exemplo nas papi-
las drmicas, mediante bipsia; (2) bipsia intestinal obrigatria em todos os doen-
tes.
Tratamento: 1) As leses da pele cedem usualmente teraputica com dapsona, na
dose de 100 mg/dia. Se existem complicaes srias (raro), deve ministrar-se, em alter-
nativa, sulfapiridina ou sulfametoxipiridazina; (2) Dieta isenta em glten, mesmo que
a bipsia intestinal aparea normal. Com a aderncia a esta dieta, mais de 90% dos
doentes com DH dispensam a medicao com dapsona.
Doenas do Aparelho Digestivo
278
INTESTINO - Doena Celaca
279
REFERNCIAS
Ciclitira PJ. Coeliac Disease. In: Ratnaike RN (ED.). Small Bowel Disorders. Arnold 2000:388-406.
Holmes G, Catassi C (Ed.). Coeliac Disease. Health Press, Oxford, 2000.
Marsh MN (Ed.). Coeliac Disease. Oxford Blackwell Scientific, 1992.
Ferguson A, Arranz E, OMahony S. Clinical and pathological sprecrum of coeliac disease. Gut 1993;34:150-1.
Catasi C, Rarsch IM, Fabiani E et al. Coeliac disease in the year 2000:exploring the iceberg. Lancet 1994;343:200-3.
Dieterich W, Ehnis T, Bauer M et al. Identification of tissue transglutaminase as the autoantigen of coeliac disease. Nat. Med 1997;3:797-
801.
Collin P, Reunala T, Pukkala E et al. Coeliac disease associated disorders and survival. Gut 1994;35:1215-18.
Corazza GR, Gasbarrini G. Coeliac disease in adults. Ballieres Clin Gastroenterol 1995;9:329-50.
Holmes GKT, Prior P, Lane MR et al. Malignancy in coeliac disease effect of a gluten free diet. Gut 1989;30:333-8.
Swinson CM, Slavin G, Coles EC et al. Coeliac disease and malignancy. Lancet 1983;i:111-115.
Fry L. Dermatitis herpetiformis. Baillieres Clin Gastroenterol 1995;9:371-93.
Pea AS, Garrotte JA, Crusius JBA. Avances in the immunogenetics of coeliac disease. Clues for understanding the pathogenesis and disea-
se heterogeneity. Scand J Gastroenterol 1998;33 (suppl 225):56-58.
Vahedi K, Bouhnik Y, Matuchansky C. Celiac disease of the adult. Gastroenterol Clin Biol. 2001 May;25(5):485-94.
Nancey S, Flourie B. Specific carbohydrate malabsorption. Rev. Prat. 2001 May 15;51(9):969-72.
Cellier C, Grosdidier E. Adult celiac disease. Rev Prat. 2001 May 15;51(9):959-63.
Soule JC. Clinical and biological syndrome of intestinal malabsorption: diagnostic tests. Rev Prat. 2001 May 15;51(9):953-8.
Moskaluk CA. Sailing past the horizon. The histologic diagnosis of celiac disease in nonflat intestinal mucosa.
Am J Clin Pathol. 2001 Jul;116(1):7-9.
Wahnschaffe U, Riecken EO, Schulzke JD. Diagnosis of sprue. Dtsch Med Wochenschr. 2001 May 25;126(21):638-42.
Fasano A. Celiac disease: the past, the present, the future. Pediatrics. 2001 Apr;107(4):768-70.
Ciclitira PJ. AGA technical review on Celiac Sprue. American Gastroenterological Association. Gastroenterology. 2001 May;120(6):1526-40.
Johnston SD, Smye M, Watson RP. Intestinal permeability tests in coeliac disease. Clin Lab. 2001;47(3-4):143-50.
Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving spectrum.
Gastroenterology. 2001 Feb;120(3):636-51.
Freeman HJ. Small intestinal mucosal biopsy for investiation of diarrhea and malabsorption in adults.
Gastrointest Endosc Clin N Am. 2000 Oct;10(4):739-53,vii.
Biagi F, Lorenzini P, Corazza GR. Literature review on the clinical relationship between ulcerative jejunoileitis, coeliac disease, and enteropat-
hy-associated T-cell. Scand J Gastroenterol. 2000 Aug;35(8):785-90.
Kennedy NP, Feighery C. Clinical features of coeliac disease today. Biomed Pharmacother. 2000 Aug;54(7):373-80.
Oberhuber G. Histopathology of celiac disease. Biomed Pharmacother. 2000 Aug;54(7):368-72.
Dieterich W, Storch WB, Schuppan D. Serum antibodies in celiac disease. Clin Lab. 2000;46(7-8):361-4.
OFarrelly C. Is villous atrophy always and only the result of gluten sensitive disease of the intestine? Eur J Gastroenterol Hepatol.
2000 Jun;12(6):605-8.
James MW, Scott BB. Endomysial antibody in the diagnosis and management of coeliac disease. Postgrad Med J. 2000 Aug;76(898):466-8.
Lanzini A, Lanzarotto F. Review article: the mechanical pumps and the enterohepatic circulation of bile acids-defects in coeliac disease.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl 2:58-61.
Matuchansky C, Vahedi K, Morin MC, Bouhnik Y. Gluten-free diet and celiac disease in adults.
Gastroenterol Clin Biol. 1999 Jun;23(5 Pt 2):B115-23.
Ryan BM, Kelleher D. Refractory celiac disease. Gastroenterology. 2000 Jul;119(1):243-51.
Schuppan D. Current concepts of celiac disease pathogenesis. Gastroenterology. 2000 Jul;119(1):234-42.
Romaldini CC, Barbieri D. Serum antibodies in celiac disease. Arq Gastroenterol. 1999 Oct-Dec;36(4):258-64.
Sdepanian VL, de Morais MB, Fagundes Neto U. Celiac disease: evolution in knowledge since its original centennial description up to the
present day. Arq Gastroenterol. 1999 Oct-Dec;36(4):244-57.
Wolf I, Mouallem M, Farfel Z. Adult celiac disease presented with celiac crisis: severe diarrhea, hypokalemia, and acidosis.
J Clin Gastroenterol. 2000 Apr;30(3):324-6.
Van De Wal Y, Kooy Y, Van Veelen P, et al. Coeliac disease: it takes three to tango! Gut. 2000 May;46(5):734-7.
Dickey W, Hughes DF, McMillan SA. Reliance on serum endomysial antibody testing underestimates the true prevalence of coeliac disease
by one fifth. Scand J Gastroenterol. 2000 Feb;35(2):181-3.
Sanchez-Fayos Calabuig P, Juzgado Lucas D, Martin Relloso MJ, et al. Celiac sprue. Range of clinicobiological manifestations, current status
of diagnosis, therapeutic potential, and clinical course complications. Rev Clin Esp. 1999 Dec;199(12):825-33.
Stuber E, Folsch UR. Gluten-sensitive enteropathy (sprue, celiac disease). Current aspects of epidemiology, diagnosis and therapy.
Dtsch Med Wochenschr. 1999 Dec 3;124(48):1462-7.
Collin P, Kaukinen K, Maki M. Clinical features of celiac disease today. Dig Dis. 1999;17(2):100-6.
Oberhuber G, Granditsch G, Vogelsang H. The histopathology of coeliac disease: time for a standardized report scheme for pathologists.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Oct;11(10):1185-94.
Butt S. New clues point to coeliac disease. Practitioner. 1999 Apr;243(1597):276, 279-82.
Craig RM, Ehrenpreis ED. D-xylose testing. J Clin Gastroenterol. 1999 Sep;29(2):143-50.
Parnell ND, Ciclitira PJ. Review article: coeliac disease and its management. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Jan;13(1):1-13.
Doenas do Aparelho Digestivo
INTESTINO - Intolerncia Lactose
281
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XII
INTOLERNCIA LACTOSE
1. Conceito
2. Etiologia
3. Prevalncia
4. Patofisiologia e Clnica
5. Diagnstico
6. Tratamento
281
Doenas do Aparelho Digestivo
1. CONCEITO
Os dissacardeos (lactose, maltose, sacarose e trehalose) so molculas constituidas
por dois monossacardeos, que necessitam de ser hidrolisados por enzimas especfi-
cos, as dissacaridases da mucosa do intestino delgado, para serem absorvidos.
A hipolactasia primria e selectiva do adulto, uma deficincia em lactase na muco-
sa intestinal, sem nenhum distrbio nas outras dissacaridases. A intolerncia lacto-
se uma sindrome clnica causada pela hipolactasia, no sendo sinnimo desta. De
facto, pode ocorrer hipolactasia sem sintomas, e a lactose pode ser mal tolerada, ape-
sar de ser hidrolisada e absorvida.
A intolerncia lactose a mais frequente das situaes de intolerncia aos dissaca-
rdeos. sobre esta entidade que vamos tecer algumas consideraes.
2. ETIOLOGIA
geralmente aceite que o declnio na actividade da lactase intestinal determinado
por um simples gene autossmico recessivo. Este gene da hipolactasia considerado
um gene do desenvolvimento normal programado, existindo em todos os mamferos
e predominantemente no homem. O declnio regular da actividade da lactase inicia-
se entre os 2 e 5 anos de idade. Com o declnio generalizado da actividade desta
enzima em todos os mamferos, a persistncia da lactase, e no a sua deficincia,
que dever ser considerada uma situao anormal.
A deficincia em lactase pode ser primria ou secundria. Esta ltima ocorre em qual-
quer doena que envolve a mucosa do intestino delgado, nomeadamente a doena
celaca e a enterite por vrus.
3. PREVALNCIA
A prevalncia da hipolactasia do adulto varia consideravelmente entre as raas e as
populaes. Na raa branca europeia, a prevalncia geralmente inferior a 30%,
embora ultrapasse esta cifra nas zonas do sul da Europa. Na sia e em frica, as pre-
valncias so muito elevadas, chegando a atingir, na Tailndia, valores de 97-100%.
4. PATOFISIOLOGIA E CLNICA
Quando a lactose ingerida, desdobrada no intestino pela lactase, com formao
de glicose e galactose. A maior actividade de lactase situa-se na bordura em escova
INTESTINO - Intolerncia Lactose
283
dos entercitos do jejuno, e bastante menos no duodeno e no leo.
Na hipolactasia, a actividade da lactase diminui para cerca de 10% da encontrada na
criana. Deste modo, a lactose permanece no hidrolisada no intestino, induzindo um
efeito osmtico, com reteno de gua no lume intestinal. No clon, a lactose meta-
bolizada pela flora bacteriana, com formao de gases (hidrognio, dixido de carbo-
no e metano) e de vrios cidos orgnicos. Deste facto resulta um segundo gradien-
te osmtico entre o plasma e o lume do clon, com movimento de fludos para o inte-
rior do intestino.
Estes eventos desencadeiam os sintomas usuais da hipolactasia: diarreia, flatulncia,
borborigmos e distenso abdominal. Por vezes h dor abdominal.
A quantidade de lactose que provoca estes sintomas varia de indivduo para indiv-
duo. Pequenas quantidades (< 7gr) no provocam usualmente sintomas. Este limiar de
tolerncia parece no estar correlacionado com a actividade de lactase residual no
jejuno. O ritmo de esvaziamento gstrico, o tempo de trnsito no intestino delgado,
e a capacidade de absoro de gases e de cidos pelo clon, so factores que podem
modificar os sintomas. Geralmente estes tendem a ser menos severos quando a lac-
tose ingerida com alimentos slidos, ou quando dividida em vrias doses duran-
te o dia. Nem o contedo em gordura, nem a viscosidade do leite afectam os sinto-
mas de intolerncia lactose.
5. DIAGNSTICO
O diagnstico da hipolactasia usualmente feito mediante um teste de tolerncia lac-
tose. Aps uma dose deste dissacardeo, possvel medir a elevao da glicose no san-
gue, os nveis sanguneos ou urinrios da galactose, ou o hidrognio no ar expirado.
Na vigncia de deficincia em lactase, a elevao da glicmia aps ingesto oral da
lactose, inferior a 1.1 mol/L. Este teste pouco fivel.
A mensurao da galactose no sangue constitui uma tcnica mais fidedigna, sendo
necessria unicamente uma amostra de sangue 40 minutos aps a ingesto oral da
lactose. No entanto, para prevenir a rpida transformao da galactose em glicose no
fgado, necessrio que o doente consuma uma pequena quantidade de etanol (300
mgr/kg), o que uma desvantagem, sobretudo em crianas. Na hipolactasia, a galac-
tose no sangue inferior a 0.3mml/L 40 minutos aps a ingesto de lactose.
Uma simplificao deste teste a determinao da concentrao urinria de galacto-
se aos 40 minutos, quantitativa ou qualitativamente. Na hipolactasia, a galactose uri-
nria inferior a 2 mmol/L. A dose de etanol exigida pode ser reduzida para 150
mgr/kg.
O etanol pode ser eliminado do teste mediante a determinao da relao galactose
urinria/creatinina, ou da galactose total no volume urinrio emitido durante 3 horas
Doenas do Aparelho Digestivo
284
aps ingesto da lactose. Na hipolactasia, a relao galactose urinria/creatinina
inferior a 0.125, e a galactose total excretada < 19 mg. Esta ltima tcnica em uma
elevada sensibilidade e especificidade.
Recentemente foi desenvolvido um mtodo de rastreio simples baseado na dehidro-
genase da galactose: em presena da galactose na urina, observa-se uma colorao
vermelha escura na soluo teste, que comparada com uma colorao padro . O
mtodo simples, conveniente e barato.
Actualmente so tambm muito utilizados os testes respiratrios de hidrognio: 14-
21% do hidrognio formado no clon exalado na respirao. Na hipolactasia, obser-
va-se um aumento do hidrognio expirado > 20 ppm. Note-se, no entanto, que 2-20%
dos doentes podem estar colonizados por bactrias incapazes de produzir hidrog-
nio. Por outro lado, algumas bactrias podem consumir hidrognio, com produo de
metano. Por isso, alguns autores recomendam a mensurao simultnea do hidrog-
nio e do metano. Tambm interessante referir que o sono e o tabaco podem aumen-
tar a eliminao de hidrognio no relacionado com a lactose. Tambm os antibiti-
cos podem aumentar ou diminuir o teor de hidrognio exalado. Todos estes factores
devem ser equacionados na realizao deste teste respiratrio.
No mbito do diagnstico importa sublinhar que os sintomas de deficincia em lacta-
se so inespecficos, podendo ser provocados por outras entidades. Se o doente tem
sintomas sugestivos de intolerncia lactose, eles desaparecem aps a eliminao
deste produto na dieta. Se tal acontece, esse diagnstico muito provvel, no senso
necessrios mais estudos. Quando h dvidas no diagnstico, recomenda-se a reali-
zao de outros estudos, designadamente uma anlise das fezes (sangue e bactrias),
exames endoscpicos, eventualmente exame radiolgico do intestino delgado, testes
da funo heptica e ecografia abdominal.
6. TRATAMENTO
O tratamento fcil: eliminao do leite e de produtos lcteos da dieta, at um nvel que
no induza sintomas. Os diferentes produtos lcteos tm teores variados em lactose. A
tolerncia a este dissacardeo varivel, pelo que o tratamento deve ser individualizado.
Actualmente existem comercializados produtos lcteos com baixo teor em lactose, pelo
que a situao encontra-se facilitada nesta perspectiva teraputica. tambm possvel
utilizar medicamentos contendo lactase, antes das refeies, para ajudar a reduzir os sin-
tomas. No entanto, o benefcio desta medicao por vezes escasso.
O prognstico da intolerncia lactose excelente. Quando h necessidade de elimi-
nar ou reduzir drasticamente o leite e produtos lcteos, importa fornecer ao doente
suplementos de clcio.
INTESTINO - Intolerncia Lactose
285
Doenas do Aparelho Digestivo
286
REFERNCIAS
Arola H. Disaccharide Intolerance. In: Ratnaike RN (Ed). Small Bowel Disorders. Arnold 2000: 407-415.
Alvarez Coca, J, Prez Miranda M, Iritia M. et al. Usefulness of urinary galactose for the diagnosis of hypolactasia.
J. Clin Gastroenterol 1996, 23: 79-80.
Arola H. Diagnosis of hypolactasia anda lactose malabsorption. Scand J Gastroenterol 1994; 29 (Suppl 22): 26-35.
Arola H, Koivula T, Jokela H et al. Strip test is reliable in common prevalences of hypolactasia. Scand J Gastroenterol 1987; 22: 509-12.
Sahi T. Genetics and epidemiology of adult-type hypolactasia. Scand J Gastroenterol 1994; 29 (Suppl 202): 7-20.
Tamm A. Management of lactose intolerance. Scand J Gastroenterol 1994; 29 (Suppl 202): 55-63.
Nacey S, Flourie B. Specific carbohydrate malabsorption. Rev. Prat 2001; 51 (9): 973-6.
Bohmer CJ, Tuynman HA. The effect of a lactose-restricted diet in patients with a positive lactose tolerance test, earlier diagnosed as irrita-
ble bowel syndrome: a 5-year follow-up study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Aug;13(8):941-4.
Szilagyi A, Rivard J, Fokeeff K. Improved parameters of lactose maldigestion using lactulose. Dig Dis Sci. 2001 Jul;46(7):1509-19.
Vernia P, Di Camillo M, Marinaro V. Lactose malabsorption, irritable bowel syndrome and self-reported mil intolerance.
Dig Liver Dis. 2001 Apr;33(3):234-9.
Nguyen HN. Lactose intolerance. Dtsch Med Wochenschr. 2000 May 12;125(19):612. German.
Parker TJ, Woolner JT, Prevost AT, et al. Irritable bowel syndrome: is the search for lactose intolerance justified?
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Mar;13(3):219-25.
Labayen I, Forga L, Gonzalez A, et al. Relationship between lactose digestion, gastrointestinal transit time and symptoms in lactose malab-
sorbers after dairy consumption. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Apr;15(4):543-9.
Castillo-Duran C, Perales CG, Hertrampf ED, et al. Effect of zinc supplementation on development and growth of Chilean infants.
J Pediatr. 2001 Feb;138(2):229-35.
Stanton C, Gardiner G, Meehan H, et al. Market potential for probiotics. Am J Clin Nutr. 2001 Feb;73(2 Suppl):476S-483S.
de Vrese M, Stegelmann A, Richter B, Fenselau S, Laue C, Schrezenmeir J. Probioticscompensation for lactase insufficiency.
Am J Clin Nutr. 2001 Feb;73(2 Suppl):421S-429S.
Chaudhuri A. Lactose intolerance and neuromuscular symptoms. Lancet. 2000 Aug 5;356(9228):510-1.
Ledochowski M, Widner B, Sperner-Unterweger B, et al. Carbohydrate malabsorption syndromes and early signs of mental depression in fema-
les. Dig Dis Sci. 2000 Jul;45(7):1255-9.
Peuhkuri K, Vapaatalo H, Korpela R. Wide variations in the testing of lactose tolerance: results of a questionnaire study in Finnish health
care centres. Scand J Clin Lab Invest. 2000 Jul;60(4):291-7.
Taylor C, Hodgson K, Sharpstone D, et al. The prevalence and severity of intestinal disaccharidase deficiency in human immunodeficiency
virus-infected subjects. Scand J Gastroenterol. 2000 Jun;35(6):599-606.
Turnbull GK. Lactose intolerance and irritable bowel syndrome. Nutrition. 2000 Jul-Aug;16(7-8):665-6.
Marteau P, Rault D, Gehin R. Lactose in diets used for digestive disorders. Gastroenterol Clin Biol. 1999 Jun;23(5 Pt 2):B101-5.
Roberfroid MB. Prebiotics and probiotics: are they functional foods? Am J Clin Nutr. 2000 Jun;71(6 Suppl):1682S-7S; discussion 1688S-90S.
Vonk RJ, Lin Y, Koetse HA, Huang C, et al. Lactose (mal)digestion evaluated by the 13C-lactose digestion test.
Eur J Clin Invest. 2000 Feb;30(2):140-6.
Peuhkuri K, Vapaatalo H, Korpela R, Teuri U. Lactose intolerance-a confusing clinical diagnosis. Am J Clin Nutr. 2000 Feb;71(2):600-2.
Peuhkuri K, Nevala R, Vapaatalo H, Moilanen E, Korpela R. Ibuprofen augments gastrointestinal symptoms in lactose maldigesters during a
lactose tolerance test. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Sep;13(9):1227-33.
Tahir KI. Unethical promotion of lactose-free formula. Lancet. 1999 Jun 26;353(9171):2247-8.
Shaw AD, Davies GJ. Lactose intolerance: problems in diagnosis and treatment. J Clin Gastroenterol. 1999 Apr;28(3):208-16.
Saltzman JR, Russell RM, Golner B, Barakat S, Dallal GE, Goldin BR. A randomized trial of Lactobacillus acidophilus BG2FO4 to treat lactose
intolerance. Am J Clin Nutr. 1999 Jan;69(1):140-6.
Peuhkuri K, Vapaatalo H, Nevala R, Korpela R. Influence of the pharmacological modification of gastric emptying on lactose digestion and
gastrointestinal symptoms. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Jan;13(1):81-6.
INTESTINO - Infeces Intestinais
287
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XIII
INFECES INTESTINAIS
1. Infeces Intestinais Agudas
A. Infeces Bacterianas
B. Infeces Virais
2. Infeces Intestinais Crnicas
287
Doenas do Aparelho Digestivo
1. INFECES INTESTINAIS AGUDAS
As infeces do intestino so afeces comuns em todo o mundo. Nos pases pouco
desenvolvidos, a diarreia infecciosa, acompanhada de desidratao e m nutrio,
uma importante causa de morbilidade e de mortalidade. Estima-se que, escala mun-
dial, a diarreia infecciosa aguda determina cerca de 5 milhes de mortes por ano.
Nos pases desenvolvidos, com adequada rede sanitria, a diarreia infecciosa no atin-
ge dimenses srias. Contudo, mesmo nestes pases, a infeco intestinal aguda pode
tornar-se uma emergncia gastroenterolgica.
As infeces intestinais agudas so essencialmente induzidas por bactrias e vrus.
Abordaremos sucessivamente estas duas grandes etiologias.
A INFECES BACTERIANAS
As infeces bacterianas so uma causa importante de diarreia aguda. A ingesto de
uma bactria patognica no induz invariavelmente diarreia. Esta depende do volume
do inoculum, da virulncia do agente e da resistncia do hospedeiro.
1. MECANISMO PATOGNICO DA DIARREIA
Em geral, as bactrias induzem diarreia por dois principais mecanismos, que podem
estar associados: (1) elaborao de uma toxina que actua como secretagogo ou como
citotoxina; (2) invaso da mucosa.
As enterotoxinas bacterianas so polipeptdeos libertados pelas bactrias, sendo inte-
gradas por:
a) Toxinas que causam diarreia por aumento da secreo de fluidos, de que
exemplo a toxina da clera;
b) Citotoxinas que provocam diarreia por leso da mucosa intestinal, como suce-
de com as verocitotoxinas da E. coli enterohemorrgica;
c) Toxinas produzidas aps invaso da mucosa por certo tipo de bactrias, desig-
nadamente pela Shigella dysenteriae tipo I.
As enterotoxinas secretagogas podem encontrar-se preformadas nos alimentos antes
da sua ingesto, ou podem ser elaboradas pelo microorganismo quando este contac-
ta a mucosa intestinal. Actuam, no por penetrao na mucosa e leso subsequente,
mas por activao enzimtica intracelular (AMP cclico ou GMP cclico ).
As bactrias patognicas que elaboram citotoxinas que no actuam por mecanismos
secretagogos, mas por leso das clulas so:
INTESTINO - Infeces Intestinais
289
Espcies de Shigella
Shigella dysenteriae 1
Shigella sonnei (algumas estirpes)
Shigella flexneri (algumas estirpes)
Clostridium difficile
E. coli enterohemorrgica
Campylobacter jejuni
H bactrias que s produzem citotoxinas aps a invaso da mucosa, que o primei-
ro evento. Aps a penetrao na parede intestinal, multiplicam-se dentro das clulas
epiteliais, e elaboram citotoxinas que destroem as clulas e induzem leses nos teci-
dos. Quando as clulas mortas so eliminadas, formam-se microlceras ou microab-
cessos na mucosa, ocorrendo uma reaco inflamatria extensa na lamina propria.
Estas bactrias, que originam quadros de disenteria, isto , diarreia com sangue, muco
e ps so as seguintes:
E. coli enteroinvasivo
Shigella
Campilobacter jejuni
Yersnia enterocoltica
E. coli enterohemorrgica
E. coli enteroagregativa
2. ABORDAGEM CLNICA/DIAGNSTICA
A maioria dos episdios de diarreia aguda so auto-limitados e no requerem avalia-
o. Contudo, quando se estuda um doente com diarreia aguda, necessrio consi-
derar e identificar que pacientes beneficiariam com teraputica especfica. A avalia-
o do doente deve ter em conta o seu estado geral, a severidade e a durao da
doena, o contexto em que a infeco foi adquirida, e a possibilidade de identificar
um agente patognico para o qual exista um tratamento especfico.
Um exerccio clnico til classificar os doentes em duas sindromes: diarreia inflama-
tria e no inflamatria. Esta geralmente no requer uma avaliao aprofundada, ao
passo que os doentes com diarreia inflamatria tm frequentemente um agente pato-
gnico e podem beneficiar com teraputica antimicrobiana.
A diarreia no inflamatria caracterizada pela emisso de fezes aquosas de grande
volume, com poucos sinais ou sintomas sistmicos. A febre usualmente no aconte-
ce, ou mnima. Os micrbios que causam esta sindrome so bactrias produtoras
de enterotoxinas, protozorios ou vrus minimamente invasivos. Estes agentes ente-
ropatognicos geralmente infectam o intestino delgado e estimulam a secreo intes-
Doenas do Aparelho Digestivo
290
tinal, podendo levar desidratao. As mais provveis causas desta sindrome incluem
vrus, E. coli enterotoxignica, V. cholerae, intoxicao alimentar por estafilococos e
clostridia, giardase e cryptosporidium.
A diarreia inflamatria caracterizada por dejeces frequentes de pequeno volume,
podendo conter sangue. Os doentes apresentam pirexia, queixam-se de dores abdo-
minais por vezes severas, e apresentam um aspecto de toxicidade e afectao do esta-
do geral. A desidratao menos comum do que na forma no infamatria. Os orga-
nismos que causam esta sindrome usualmente afectam o clon, e invadem a mucosa
ou elaboram citotoxinas, de que resulta uma reaco inflamatria aguda, com muco,
sangue e leuccitos nas fezes. As mais provveis causas desta sindrome so:
Salmonella, Shigella, Yersnia, Campylobacter, E. coli enterohemorrgica, C. difficile e
Entamoeba histolytica.
O exame de fezes para deteco de leuccitos e lactoferrina, til na diferenciao
destas duas sindromes. A positividade para leuccitos ou lactoferina, indica uma reac-
o aguda inflamatria inestinal. Embora as infeces sejam a causa mais comum, a
isqumia, a colite rdica, e a DII podem dar resultados igualmente positivos.
Os doentes debilitados desnutridos e imunodeprimidos, ou que apresentam comorbi-
lidade associada, tm maior risco de complicaes, requerendo uma avaliao preco-
ce e hospitalizao.
As culturas de fezes so solicitadas muito frequentemente. Na maioria dos laborat-
rios, os procedimentos de rotina detectam unicamente trs agentes patognicos:
Salmonella, Shigella e Campylobacter. Dado que a eliminao dos microorganismos
patognicos espordica, e considerando que uma parte significativa das diarreias
infecciosas so induzidas por vrus, as culturas de fezes so infrequentemente positi-
vas. Em determinados contextos clnicos, devem ser solicitadas culturas especficas,
designadamente se h suspeio de infeco por Vibrio, Yersnia ou E. Coli enterohe-
morrgica. Se a suspeita recai no C. difficile, o teste preferido o ensaio da citotoxi-
na nas fezes. Por outro lado, quando h presuno de parasitose intestinal, deve
pedir-se um exame de fezes para pesquisa de quistos, trofozoitos, larvas ou ovos. O
exame endoscpico pode ser utilizado para obter aspirados e bipsias do intestino
delgado, para deteco de Giardia, Cryptosporidium, Microsporida, Isosporabelli ou
Mycobacterium avium-intracelular. A sigmoidoscopia flexvel pode ser til na avaliao
de doentes com proctite, tenesmo e doenas de transmisso sexual ou na identifica-
o da colite pseudomembranosa por C. difficile. Em doentes infectados pelo HIV, a
colonoscopia total com bipsia pode ser necessria, designadamente na identificao
de lceras pelo citomegalovrus.
INTESTINO - Infeces Intestinais
291
3. TRATAMENTO
Medidas gerais
O tratamento deve visar, sobretudo, a preveno da desidratao e a restaurao do
equilbrio hidro-electroltico. A cafena deve ser proibida porque aumenta a cAMP intra-
celular, de que resulta aumento da secreo intestinal.
Embora a rehidratao seja comummente obtida por fluidos intravenosos, pode tam-
bm ser conseguida por teraputica oral com fluidos e electrlitos. Na diarreia ligeira
basta aumentar a ingesto de lquidos. Quando ocorre moderada depleco de volu-
me, os solutos devem conter glicose e elecrlitos especficos para compensar as per-
das diarreicas.
Remdios caseiros como colas e sumos de frutos so insuficientes porque contm
concentraes inadequadas de electrlitos e so frequentemente hiperosmolares.
Existem actualmente vrias solues orais para rehidratao, fortemente recomenda-
das no adulto e na criana. Os doentes com desidratao severa ou choque hipovo-
lmico requerem hidratao endovenosa.
Agentes antidiarreicos
Existem mltiplos produtos comercializados para debelar os sintomas de diarreia e de
clica abdominal. Os anticolinrgicos diminuem a motilidade e podem atenuar as
dores. Opiceos e seus derivados (codena, loperamida, difenoxilato-atropina), retar-
dam a motilidade intestinal, e aumentam por isso a absoro de gua e de sdio. So
eficazes e incuos se utilizados com propriedade, cada 6 horas ou 12 horas. Estes fr-
macos devem ser evitados nos doentes com disenteria, febre ou sintomas sistmicos,
podendo agravar significativamente os casos de infeco por Shigella, Salmonella,
Campylobacter ou C. difficile.
Uma alternativa razovel para a diarreia ligeira ou moderada, o subsalicilato de bis-
muto, que possui propriedades antisecretoras, antibacterianas e anti-inflamatrias,
diminuindo a frequncia e a fluidez das fezes.
Teraputica antimicrobiana
A maioria dos casos de diarreia infecciosa aguda no beneficiam de tratamento com
antibiticos. Constituem indicao para teraputica antimicrobiana:
Infeco por Shigella
Infeco por Vibrio Cholerae
Infeco por Clostridium difficile
Diarreia do viajante
Salmonelose extra-intestinal
Situao txica por salmonelose
Diarreia prolongada por Campylobacter
Parasitoses por protozorios
Giardia lamblia
Doenas do Aparelho Digestivo
292
Entamoeba histolytica
Doenas sexualmente transmitidas
Gonorreia
Sfilis
Infeco por Clamidia
Herpes simplex
4. INFECES ESPECFICAS
Escherichia Coli (E. coli)
Os virotipos de E. coli que originam diarreia so: (1) E. coli enterotoxignica (ETEC);
(2) E. coli enteropatognica (EPEC); (3) E. coli enteroinvasiva (EIEC); (4) E. coli ente-
roagregativa (EAggEC); e (5) E. coli enterohemorrgica (EHEC).
E. coli enterotoxignica
A infeco ocorre por ingesto de gua ou alimentos contaminados. a causa mais
frequente de diarreia do viajante, e est associada sobretudo com a diarreia das crian-
as de tenra idade nos pases em desenvolvimento. O sintoma mais profuso a diar-
reia aquosa devida a uma toxina semelhante da clera. A doena geralmente auto-
limitada, embora a antibioterpia com sulfametoxazole-trimetoprim ou com uma qui-
nolona, encurte significativamente a durao da doena.
E. coli enteropatognica
A diarreia ocorre devido a leses celulares pela aderncia dos microorganismos s
vilosidades, com libertao posterior de uma citotoxina. H apagamento da bordadu-
ra em escova dos entercitos do jejuno e do leo, diminuio das dissacaridases e
perda de grandes reas de absoro, de que resulta a caracterstica diarreia aquosa.
No h certeza quanto ao valor da teraputica antibitica. Tem sido recomendado o
cido nalidxico.
E. coli enteroinvasiva
Este microorganismo invasivo multiplica-se nas clulas epiteliais do leo distal e do
clon, induzindo necrose e desnudamento de grande reas do epitlio. Este agente lem-
bra a Shigella. O clon o maior local desta infeco, que no sendo uma frequente
causa da diarreia, est implicada na diarreia do viajante e nas diarreias por alimentos
contaminados. As quinolonas tm sido recomendadas no tratamento especfico.
E. coli enteroagregativa
A designao de enteroaggregative, substituiu a prvia descrio de enteroadhesi-
ve. A EAggEC uma causa principal de diarreia persistente na criana, sobretudo nos
pases em desenvolvimento. Lesa as clulas epiteliais por fenmenos de aderncia,
INTESTINO - Infeces Intestinais
293
embora ainda no esteja devidamente esclarecido o seu mecanismo patognico.
Embora no adulto se verifique a aderncia da bactria mucosa do clon, na crian-
a d-se a nvel do jejuno, primordialmente.
E. coli enterohemorrgica
O maior local de infeco o leo terminal e o clon. O maior reservatrio natural
o tracto gastrointestinal de animais, e a infeco resulta de produtos animais conta-
minados. Alimentos mal cozinhados, so uma fonte potencial da infeco, que tem
grande capacidade de propagao, designadamente em infantrios e centros de ter-
ceira idade.
O serotipo predominante o E. coli 0157:H7, responsvel por colite hemorrgica seve-
ra devida a duas toxinas, Verotoxina I e Verotoxina II, muito semelhantes shigatoxi-
na. O agente ataca e apaga a mucosa do leo terminal e do clon, lesando as clulas
endoteliais vasculares, sobretudo nos glomrulos renais e no sistema nervoso. O
espectro da doena causada por este serotipo muito amplo. Os sintomas iniciais so
a diarreia aquosa e a dor abdominal. Depois, devido ao envolvimento do clon, surge
diarreia sanguinolenta e o doente queixa-se de clicas abdominais. A fere no usual.
H infeces assintomticas ou sub-clnicas. Podem ocorrer complicaes srias: a sin-
drome urmica hemoltica e a prpura trombtica trombocitopnica. Presentemente,
no h evidncia do benefcio da antibioterpia. Considerar a teraputica emprica.
Shigella
O agente Shigella muito contagioso, pelo que a sua propagao mais frequente
do que noutras formas de diarreia bacteriana. A infeco tambm ocorre a partir da
contaminao da gua e de alimentos.
Os quatro serogrupos so a S. sonnei, comum nas zonas pouco desenvolvidas, a S.
dysenteriae 1, a S. flexneri e a S. boydii. O mais virulento destes agentes a S. dysen-
teriae 1, que se associa a proteinopatia exsudativa. Todas as estirpes de Shigella cau-
sam disenteria, comummente designada de shigellose. O termo disenteria bacilar foi
abandonado.
O mecanismo de aco da enterotoxina no devido activao da adeniciclase,
como na diarreia secretora, mas a inibio da biosntese proteica por inactivao dos
ribosomas. Desta forma fica comprometida a integridade celular, levando morte das
clulas e a leses destrutivas do epitlio.
Em estdios mais avanados, o organismo penetra na mucosa do clon e liberta uma
citotoxina que induz morte celular. Ocorre deste modo um processo caracterizado por
inflamao da mucosa, ulceraes, abcessos nas criptas, e disenteria traduzida em
diarreia, muco, tenesmo, urgncia e dor rectal. A diarreia sanguinolenta pode no
acontecer.
Podem surgir complicaes: enteropatia exsudativa, sindrome urmica hemoltica, febre,
Doenas do Aparelho Digestivo
294
tosse, sintomas neurolgicos na criana, rash cutneo, artrite, sindrome de Reiter.
O tratamento faz-se com antibioterpia, utilizando o sulfametoxazoletrimetoprim ou
uma quinolona. Recomenda-se ciprofloxacina, 500 mgr cada 12 horas, durante 5 dias.
A preveno da disseminao da infeco importante, com aplicao de rigorosas
medidas de higiene pessoal.
Salmonella
Existem duas principais espcies de Salmonella: S. enterica e S. bongori. A grande
maioria dos serotipos integram a espcie S. enterica, que possui mais de 2000 sero-
tipos. Formalmente, um dos serotipos seria a S. enterica serovar Typhi, mas por con-
venincia este serotipo chamado de Salmonella typhi.
A salmonelose a designao para o total espectro clnico da infeco por
Salmonella. As salmoneloses no tifides so provocadas por qualquer dos serotipos
da Salmonella, exceptuando a S. typhi
Em comum com outras bactrias Gram-negativas, as espcies de Salmonella elaboram
uma endotoxina que libertada na altura da morte da bactria. No tracto gastrointes-
tinal, o local comum da infeco o leo, e menos frequentemente o clon. A
Salmonella invade a mucosa intestinal atravs das placas de Peyer e agregados lin-
fides. Nos casos severos, ocorre infeco sistmica por via linftica.
So os seguintes os factores de risco de aquisio de uma infeco por Salmonella:
Diminuio da acidez gstrica;
Ingesto do organismo com agentes que reduzem a cloridria (leite ou derivados,
agentes teraputicos);
Tratamento concomitante com antibiticos;
Tumor maligno;
Diminuio da imunidade.
Existem quatro principais entidades clnicas devidas a infeco por Salmonella, que
se podem, alis, sobrepor:
1. Gastroenterite por Salmonella
Na gastroenterite por Salmonella, os mais frequentes agentes causais so a S. typ-
himurium, a S. enteritidis e a S. newport.
Na maioria dos casos, a gastroenterite resulta de alimentos contaminados. As aves
domsticas constituem o maior reservatrio de salmonelas. Embora existam casos
isolados, a gastroenterite por Salmonella frequentemente epidmica.
O perodo de incubao de cerca de 24 horas, com limites entre 6-48 horas. A
INTESTINO - Infeces Intestinais
295
doena perdura durante 1-5 dias.
O incio sbito, com nuseas, vmitos, diarreia e clicas abdominais severas.
Febre, calafrios e cefaleias so tambm normais. A infeco pode disseminar-se
para o clon, surgindo ento disenteria.
A gastroenterite por Salmonella um processo auto-limitado. Se a pirexia persis-
te, h a possibilidade de uma complicao extra-intestinal. A pneumonia, a menin-
gite e a osteomielite so reconhecidas complicaes.
O diagnstico feito por cultura das fezes. A hemocultura no compensadora.
A antibioterpia no altera o curso da doena. Est indicada em doentes com risco
de complicaes: crianas, idosos, imunodeprimidos, onde a bacterimia pode
revestir-se de gravidade. Antibiticos recomendados: ciprofloxacina, amoxicilina ou
sulfametoxazole-trimetoprim.
2. Febre entrica
A febre entrica, ou intestinal, um termo antigo que inclui a febre tifide devida
S. Typhi, e a febre paratifide provocada pela S. parathyphi A, e muito menos
frequentemente pela S. schottmuelleri ou S. hirschfeldii.
A febre tifide uma doena sistmica aguda, severa, caracterizada por febre e
bacterimia, dor abdominal com hipersensibilidade, hepatoesplenomeglia e um
rash caracterstico que ocorre na primeira ou na segunda semana de infeco
(leses eritematosas maculopapulares). O perodo de incubao geralmente de
10-20 dias.
A salmonella penetra nas clulas epiteliais do intestino, particularmente no leo
distal, e alcana a lamina propria. As bactrias so captadas nas placas de Peyer
e disseminam para os gnglios mesentricos, e daqui para a circulao geral. Os
microorganismos proliferam em clulas fagocticas mononucleares do fgado, aps
o que entram novamente na circulao, originando uma segunda onda, mais inten-
sa, de bacterimia.
O doente encontra-se febril, com pulso lento (bradicardia relativa) durante a pri-
meira semana da doena. O grfico da temperatura vai subindo com caractersti-
cas oscilaes. A obstipao inicial d lugar a diarreia, por vezes profusa (3-30
dejeces/dia).
Nos casos no tratados, pode ocorrer perfurao do leo na segunda ou terceira
semana. A enterocolite tem severidade varivel. O megaclon toxico uma com-
plicao potencial. Outras complicaes: hemorragia, peritonite, esplenomeglia e
hepatomeglia.
O diagnstico de febre tifide faz-se mediante o isolamento da S. typhi na hemo-
cultura, que positiva em mais de 90% dos casos. O aspecto endoscpico da
mucosa do clon pode ser indistinguvel da colite ulcerosa.
Na febre tifide o tratamento com ciprofloxacina, cloranfenicol, ampicilina ou sul-
fametoxzole-trimetoprim usualmente eficaz. A ciprofloxacina actualmente o tra-
tamento de escolha particularmente em zonas de resistncia a multi-frmacos.
Existem vacinas contra a S. Typhi, com uma eficcia de cerca de 70%. A vacina-
Doenas do Aparelho Digestivo
296
o recomendada nas viagens para zonas endmicas.
3. Infeces extra-intestinais
A maioria das infeces extra-intestinais por Salmonella so determinadas pelo
serotipo S. Typhimurium, e tendem a ocorrer em reas de isqumia ou de necro-
se. As infeces locais traduzem-se usualmente em abcessos e ocorrem numa gran-
de variedade de orgos e locais: prtese cardaca; enxertos vasculares; aneurismas
articos; trombos murais; tumores necrticos; hematomas; prteses sseas; arti-
culaes axiais e perifricas; ossos longos; sistema nervoso central.
4. Estado de portador assintomtico
Cerca de 3% dos adultos infectados pela S. typhi so portadores crnicos assinto-
mticos durante um ou mais anos. A fonte da infeco a vescula biliar ou o
intestino. Nalguns portadores crnicos ocorre uma remisso total. Outros podem
auto-infectar-se com a estirpe que albergam. O portador crnico deve ser monito-
rizado durante 1 ano, e se persiste a excreo de microorganismos, deve ser tra-
tado com ciprofloxacina ou amoxicilina durante 4-6 semanas.
Yersinia enterocoltica
um microorganismo patognico que infecta o clon, mas pode invadir tambm o
intestino delgado. Na diarreia bacteriana do adulto, um dos agentes patognicos
mais comuns.
A fonte mais comum de infeco so os alimentos contaminados, sobretudo a carne
de porco.
No incio da doena, ocorre diarreia aquosa profusa, por aco de uma enterotoxina
no intestino delgado. O envolvimento do leo distal mimetiza a doena de Crohn.
Nalguns doentes com disenteria, a dor no flanco direito lembra um quadro de apen-
dicite. Podem ocorrer manifestaoes extra-intestinais, com focos metastsicos sobre-
tudo no fgado e no bao. Outra forma de expresso clnica a colite crnica, por
vezes associada a colite ulcerosa.
No indivduo saudvel, a infeco auto-limitada. No doente de risco ou com evidn-
cia de manifestaes extra-intestinais, a ciprofloxacina ou a gentamicina so os anti-
biticos de eleio.
Campylobacter jejuni
Este microorganismo infecta predominantemente o clon, mas o intestino delgado
tambm agredido no incio do processo. A incidncia de infeco por este microor-
ganismo tende a aumentar. 50-70% destas infeces associam-se ao consumo de aves
domsticas mal cozinhadas. Outra causa importante a exposio a animais doms-
INTESTINO - Infeces Intestinais
297
ticos.
Na maioria dos indivduos saudveis, a diarreia um processo auto-limitado que
cessa dentro de 7 dias. O espectro clnico variegado, desde formas diarreicas ligei-
ras at situaes de colite fulminante. As leses do clon lembram a doena de Crohn
ou a colite ulcerosa. O megaclon txico uma potencial complicao. Manifestaes
extra-intestinais: cardite, pneumonia, infeces urinrias, sindrome de Reiter e sindro-
me de Guillain-Barr.
O tratamento est indicado nos quadros de diarreia prolongada, sangue nas fezes,
doena severa concomitante, e em doentes debilitados. O frmaco de escolha a eri-
tromicina, sendo a ciprofloxacina uma alternativa.
Clostridium difficile
O adulto saudvel raramente portador do C. difficile dado que a populao bacte-
riana do clon previne a colonizao. A antibioterpia altera a microflora do clon e
permite que ocorra a infeco pelo C. difficile. Quase todos os antibiticos tm sido
implicados no desenvolvimento de diarreia e colite pelo C. difficile, mas os mais ofen-
sivos so as penicilinas de amplo espectro, as cefalosporinas e a clindamicina, quer
isoladamente ou em associao.
A infeco pelo C. difficile essencialmente adquirida no internamento hospitalar.
Trata-se de um agente patognico nosocomial que infecta doentes internados, em per-
centagens que atingem os 20%. A maioria destes doentes no evidenciam sintomas,
no requerendo teraputica especfica.
As estirpes patognicas do C. difficile libertam duas potentes exotoxinas: toxina A e
toxina B. Estas toxinas causam leso e inflamao da mucosa do clon, de que resul-
tam a diarreia e a colite.
O C. difficile pode induzir um espectro de situaes clnicas, desde o portador assin-
tomtico at formas fatais de colite pseudomembranosa. Estudos epidemiolgicos evi-
denciam que o estado do portador assintomtico comum em adultos hospitalizados
durante mais de trs dias. Mais de 20% dos doentes adquirem o C. difficile durante
a hospitalizao. A diarreia s ocorre em cerca de ? dos doentes infectados.
Nas formas sintomticas, h usualmente um quadro de diarreia, usualmente profusa,
sem sangue ou muco. A maioria dos doentes queixam-se de dores abdominais, tm
febre, leucocitose e um certo grau de defesa abdominal. Em estdios mais severos, o
quadro lembra o abdmen agudo. A hipoalbuminmia e o desequilbrio hidro-electro-
ltico so complicaes comuns. Os sintomas iniciam-se usualmente cerca de quatro
a dez dias aps o incio da teraputica antibitica, mas h grandes variaes neste
padro. importante sublinhar que cerca de um tero dos doentes s apresentam
queixas aps se haver suspenso o antibitico.
Doenas do Aparelho Digestivo
298
O diagnstico da infeco pelo C. difficile baseia-se na histria clnica, na realizao
de colonoscopia com bipsia e na demonstrao das toxinas A ou B nas fezes do
doente. O aspecto endoscpico tpico consiste na presena de mltiplas placas
esbranquiadas aderentes mucosa, intervaladas por retalhos de mucosa normal, no
existindo sangue ou material purulento no lume. As principais caractersticas histol-
gicas consistem em alteraes infamatrias com infiltrao celular da lamina propria,
disrupo das glndulas, repletas de mucina, e abundncia de polimorfonucleares
recobertos por uma pseudomembrana constituda por restos epiteliais, fibrina, muco
e clulas polimrficas.
Tratamento da colite pseudomembranosa do C. difficile:
Suspenso da teraputica com o antibitico indutor do processo;
Medidas inespecficas de rehidratao, reposio de electrlitos e cuidados de
suporte;
Administrao de vancomicina ou metronidazole
No esquema teraputico actualmente mais consagrado, utiliza-se o metronidazole,
oral, durante 10 dias, na dose de 250-500 mgr trs/quatro vezes por dia.
A vancomicina oral, na dose de 125-500 mgr trs/quatro vezes por dia, durante 10
dias, uma alternativa vlida quando:
a) A diarreia no melhora com o metronidazole;
b) O doente no tolera o metronidazole;
c) A doente est grvida, ou o doente tem menos de 10 anos de idade;
d) O quadro de colite pseudomembranosa severo.
Outros antibiticos tm sido ensaiados, designadamente a bacitracina (25.000 U, qua-
tro vezes/dia, durante sete dias), com resultados inferiores aos antibiticos consagra-
dos, e a teicoplanina, um antibitico estruturalmente relacionado com a vancomicina,
e provavelmente superior a esta em termos de cura do episdio agudo e de diminui-
o de recidivas.
Um dos mais intrigantes problemas no tratamento da colite pseudomembranosa a
incidncia de recidiva, computada entre 15-20%, e cujo mecanismo ainda no se
encontra cabalmente esclarecido.
Na eventualidade de uma recorrncia, o esquema teraputico idntico ao do epis-
dio inicial, recomendando alguns autores uma durao mais prolongada do tratamen-
to (por ex. quatro semanas). Outros autores advogam antibioterpia em dias alterna-
dos, ou de trs em trs dias. H ainda quem proponha a administrao de resinas
queladoras das toxinas do lume clico, nomeadamente o colestipol ou a colestirami-
na, ou de probiticos (por ex. Saccharomyces boulardii) em associao com metroni-
dazole ou vancomicina.
INTESTINO - Infeces Intestinais
299
Intoxicao alimentar
A intoxicao alimentar implica a presena de uma toxina num alimento, a qual foi
preformada por um agente patognico, ou resultou da contaminao por produtos
txicos. As bactrias frequentemente implicadas na intoxicao alimentar so:
1. Staphylococcus aureus
2. Bacillus cereus
3. Clostridium perfringens
4. Clostridium botulinum
1. Staphylococcus aureus
Foram identificadas vrias enterotoxinas elaboradas por esta bactria, muitas delas
com a capacidade de induzirem febre, hipotenso e choque, e com implicaes na
falncia multiorgnica. Algumas das toxinas estimulam os linfcitos T, e chamam-
se superantignios bacterianos. Activam o sistema imunitrio e libertam citocinas
patognicas. Outras toxinas tm efeito nas membranas biolgicas, originando dis-
rupo e aumento da permeabilidade para os caties.
Nuseas, vmitos e diarreia 1-6 horas aps uma refeio sugerem a ingesto des-
tas toxinas preformadas. Os vmitos so severos e a diarreia aquosa e profusa.
A ocorrncia imediata de nuseas e vmitos deve-se ao efeito neurotxico da ente-
rotoxina B. Podem ocorrer sintomas neurolgicos, designadamente vertigens, zuni-
dos e torpor. Os sintomas desaparecem em 24-48 horas. Os antibiticos no tm
indicao neste quadro clnico, uma vez que as toxinas esto j preformadas nos
alimentos. importante prevenir a desidratao.
2.Bacillus cereus
um microorganismo Gram-positivo que produz dois complexos sintomticos: uma
sindrome de emese severa, e uma sindrome diarreica. Estas duas entidades so
devidas a duas toxinas distintas.
3. Clostridium perfringens
Trata-se de uma bactria muito disseminada que contamina sobretudo a carne. A
infeco ocorre aps ingesto de carne cozinhada, conservada temperatura
ambiente e reaquecida um ou dois dias depois. A maioria das infeces resultam
do C. perfringens tipo A, que elabora enterotoxinas nos alimentos ou j no intes-
tino delgado, originando uma diarreia tipo secretor, com clicas abdominais. O
perodo de incubao de 6-24 horas, e a durao do episdio de 1 dia.
4. Clostridium botulinum
Se os alimentos esto contaminados com esporos de C. botulinum, estes podem
germinar, sobretudo em condies de baixa acidez, e produzem uma potente neu-
rotoxina. Esta pode originar paralisia simtrica descendente, insuficincia respira-
Doenas do Aparelho Digestivo
300
tria e morte. Nuseas, vmitos e dores abdominais so outros sintomas desta
intoxicao. No ocorre febre. So usuais outros sintomas neurolgicos.
O diagnstico estabelece-se pela identificao do microorganismo em amostras do
vmito, do contedo gstrico ou das fezes. A antitoxina equina deve ser ministra-
da aps a recolha de amostras para anlise, dada a urgncia da situao. Em cer-
tos casos, est indicada a lavagem gstrica ou a administrao de enemas.
B INFECES VIRAIS
A diarreia por vrus uma importante afeco em todo o mundo, sobretudo nos pa-
ses em desenvolvimento. A criana, o idoso e o doente imunodeprimido, so os mais
vulnerveis.
Os vrus constituem a causa mais comum de diarreia infecciosa na criana, em qual-
quer rea do globo. Nos pases menos desenvolvidos, so responsveis por percen-
tagens elevadas de morte em crianas com menos de 5 anos de idade, cifras que
podem atingir os 25%. Nos pases desenvolvidos, esta situao clnica uma causa
major de morbilidade e de hospitalizao, embora ocasione poucas mortes.
A diarreia viral, tambm chamada de gastroenterite viral, definida pelo incio agudo
de febre, diarreia e/ou vmitos, com menos de 10 dias de durao.
Os vrus que usualmente causam diarreia infecciosa na criana ou no adulto so:
Rotavrus
Adenovrus entrico
Caliciviridae
Astroviridae
Coronaviridae
1. ETIOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA
Rotavrus
O rotavrus, inicialmente descoberto na Austrlia, a principal causa de gastroenteri-
te espordica aguda na criana, originando tambm episdios de diarreia aguda no
adulto e no viajante.
O rotavrus um vrus RNA, existindo pelo menos sete grupos de rotavrus antigeni-
camente distintos (grupos A-G), mas morfologicamente idnticos. Mais de 90% dos
casos de doena no homem so causados pelo rotavrus do grupo A, principalmente
os serotipos G (1-4).
INTESTINO - Infeces Intestinais
301
Nos climas temperados, o rotavrus uma doena do inverno, mas pode surgir duran-
te 8 meses no ano. Nas reas tropicais, a variao sazonal menos evidente. O rota-
vrus transmitido por via fecal-oral.
Adenovrus entrico
a segunda causa mais frequente de diarreia infecciosa viral. So morfologicamente
idnticos aos adenovrus causadores de problemas respiratrios, mas tm sido cate-
gorizados num grupo separado (F), compreendendo dois distintos serotipos 40 e 41.
Estes vrus originam gastroenterite sem sintomas respiratrios, na criana e no adul-
to, e no evidenciam variao sazonal como os rotavrus.
A via de transmisso provavelmente fecal-oral, com um longo perodo de incubao
de 8-10 dias. A excreo viral pode durar at 14 dias.
Caliciviridae
Trata-se de uma famlia de vrus no passveis de cultura, com uma caracterstica
peculiar em microscopia electrnica que a observao de 32 clices na superfcie do
vrus.
Nestes vrus RNA, destacam-se dois subtipos: o calicivrus humano, de que existem
pelo menos cinco serotipos, e os vrus Norwalk e Norwalk-like.
O vrus Norwalk foi o primeiro vrus da gastrenterite humana a ser descoberto, em
1972, mediante microscopia electrnica. Este vrus e os vrus Norwalk-like, so os prin-
cipais agentes etiolgicos de epidemias de gastrenterite no bacteriana no adulto e
no adolescente. A via de transmisso sobretudo fecal-oral.
Astroviridae
So vrus pequenos, redondos, cultivveis, de tipo RNA. Foram assim designados em
funo da sua configurao em estrela, existindo pelo menos cinco serotipos huma-
nos. So causa comum de infeces cruzadas em hospitais, centros de dia e centros
geritricos, com uma elevada taxa de ataque e prolongada excreo viral. So tam-
bm a causa mais frequente de diarreia em doentes com infeco HIV.
Coronaviridae
Esto descritos dois tipos: coronavrus humano e os toroviridae. Podem atingir a
criana e o adulto.
2. PATOGNESE
Rotavrus
Aps a sua ingesto, os rotavrus invadem unicamente clulas epiteliais maduras, ini-
Doenas do Aparelho Digestivo
302
cialmente no duodeno, onde se multiplicam, causam rotura celular e movem-se pro-
gressivamente no sentido descendente. Os estudos iniciais indicaram que a diarreia
da enterite pelos rotavrus no se relacionava com as leses da mucosa induzidas por
estes agentes, mas com o atraso na diferenciao normal das microvilosidades dos
entercitos, de que resulta uma diminuio na capacidade de absoro de gua, ele-
crlitos e glicose, e uma deficincia em dissacaridases com consequente diarreia
osmtica. Mais recentemente, alguns trabalhos sustentam que a diarreia dos rotav-
rus poderia ocorrer sem leso da mucosa intestinal. Uma glicoprotena do rotavrus
(NSP4) produz um efeito semelhante ao de uma enterotoxina, que mediaria a secre-
o de cloro dependente do clcio.
Adenovrus entrico
Desconhece-se o mecanismo que gera diarreia nesta infeco viral. provvel que
ocorra multiplicao viral activa no interior da mucosa. Alguns autores defendem que
estes vrus poderiam ter um papel na gnese de diarreias crnicas e de m nutrio.
Calicivrus
No existe informao sobre a patognese da diarreia ou das alteraes funcionais
induzidas por estes vrus.
3. CLNICA
Rotavrus
A infeco sintomtica por rotavrus tem um perodo de incubao de 1-3 dias, e induz
um quadro clnico de febre e vmitos que usualmente precede o incio da diarreia.
Esta pode durar at sete dias. A durao e severidade dos sintomas so mais signifi-
cativas em crianas at 18 meses de vida. A severidade da doena varia entre infec-
es assintomticas e formas agudas fatais, no parecendo ser influenciada pelo sero-
tipo do rotavrus. A infeco por rotavrus pode originar uma doena mais prolonga-
da quando ocorre secundriamente m absoro de acar. Pode ser tambm uma
importante causa de diarreia persistente.
Adenovrus entrico
As manifestaes clnicas so similares s da infeco pelos rotavrus, embora sejam
mais atenuadas, com 1-2 dias de febre e vmitos, seguidos de diarreia aquosa que
usualmente dura 812 dias.
Calicivrus humano
A maioria destes vrus induzem um quadro clnico com um perodo de incubao de
1-3 dias, e sintomas geralmente ligeiros, com diarreia aquosa, clicas abdominais e
vmitos.
INTESTINO - Infeces Intestinais
303
Astroviridae
So predominantemente uma doena do inverno, e produzem um quadro clnico ligei-
ro com diarreia aquosa (1-2 dias). Pensa-se actualmente que originam episdios de
gastroenterite de forma mais frequente do que inicialmente se admitia.
4. IMUNIDADE
Rotavrus
Um estudo mexicano recente sugere que a infeco natural por rotavrus confere pro-
teco contra subsequentes infeces. Estes dados sugerem a possibilidade de uma
imunizao universal com um imunognio efectivo.
A alimentao materna confere maior proteco contra os rotavrus.
Adenovrus entrico
Dados recentes parecem indicar que as infeces com estes agentes no protegem
contra subsequentes infeces sintomticas.
Caliciviridae e Astroviridae
Ainda no existe informao satisfatria quanto imunidade nestas infeces.
5. DIAGNSTICO
No quadro seguinte, indicam-se as tcnicas actualmente disponveis para o diagns-
tico dos agentes virais patognicos mais comuns:
6. TRATAMENTO E PREVENO
A maioria das causas de diarreia viral so autolimitadas, e o escopro do tratamento
a recuperao da desidratao, mediante a ingesto de solues orais. Recentes
modificaes nestas situaes melhoraram a eficcia, nomeadamente com a introdu-
Doenas do Aparelho Digestivo
304
AGENTES VIRAIS E MEIOS DE DIAGNSTICO
Microscopia electrnica IEM EIA PCR Cultura
Rotavrus + - + + +
Adenovrus entrico + - + - +
Calicivrus + - + - -
Virus Norwalk e Norwalk-like - + + + -
Astrovrus + - + + +
Coronavrus + - + + -
IEM - Immune electron microscopy + Testes de diagnstico disponveis
EIA - Enzyme immunosorbent assay - Testes de diagnstico no disponveis ou desenvolvidos
PCR - Polymerase chain reaction
o do arroz. Se no existem sinais clnicos de desidratao, aumenta-se a ingesto
de fluidos utilizando solues hipotnicas designadamente sumos de frutos diludos.
A amamentao materna deve prosseguir, complementada com fluidos.
Aps a rehidratao, as crianas devem ser alimentadas, pois o jejum prolonga a diar-
reia. No h necessidade de utilizar produtos diludos.
A deficincia em lactose, que pode ocorrer aps uma gastroenterite por rotavrus,
pouco frequente mas deve ser investigada. Recentemente foram utilizadas imunoglo-
bulinas por via oral e colostro bovino hiperimune como tratamento da gastroenterite
aguda por rotavrus. Houve reduo na durao e na severidade da diarreia.
A preveno obviamente o principal objectivo na abordagem da diarreia, e levou
pesquisa de vacinas activas. A primeira vacina para o rotavrus, licenciada na USA em
1998, mostrou-se eficaz, mas foi abolida em fins de 1999 por suspeita da sua ligao
a situaes de invaginao intestinal.
A proteco passiva contra a diarreia viral utilizando-se o colostro bovino hiperimune
ou concentrados de imunoglobulinas bovinas, mostrou ser um meio eficaz na preven-
o da infeco por rotavrus. Pensa-se que esta proteco passiva poder ser alarga-
da a outros agentes patognicos entricos. Por outro lado, revelou-se valiosa no tra-
tamento de doentes imunodeprimidos com gastroenterite viral, facto importante na
medida em que neste grupo de doentes no est indicada a vacinao activa.
2. INFECES INTESTINAIS CRNICAS
A. Doena de Whipple
A doena de Whipple uma enfermidade crnica multisistmica, devida a infeco
pelo Tropheryma Whippelii, sendo a m absoro intestinal um achado comum.
uma afeco extremamente rara, sendo mais frequente nos caucasianos e no sexo
masculino. A idade mdia de diagnstico ronda os 52 anos (20-82 anos).
Ocorre um envolvimento difuso do intestino delgado, com predomnio no jejuno.
Histolgicamente h distenso da arquitectura vilositria normal por um infiltrado de
macrfagos que preenchem a lamina propria e frequentemente infiltram a muscularis
mucosae e a submucosa. Os macrfagos tm um citoplasma granuloso, intensamen-
te PAS-positivo, corando brilhantemente num tom magenta. Em microscopia electr-
nica verifica-se que os grnulos citoplasmticos so conglomerados de Tropheryma
Whippelii e seus produtos de degradao. Estes corpos baciliformes podem ser obser-
vados igualmente nas clulas epiteliais, em leuccitos e em clulas plasmticas. Na
lamina propria observam-se ainda depsitos arredondados de gordura neutra, que
justificaram a designao inicial de lipodistrofia intestinal na descrio original de
Whipple. Podem observar-se tambm granulomas no caseificados. Reflectindo a
INTESTINO - Infeces Intestinais
305
natureza multisistmica da doena, os macrfagos PAS-positivos, o achado patogno-
mnico, so tambm detectados noutros locais: gnglios mesentricos, fgado, bao,
vlvulas cardacas, crebro e pulmo.
Devido ao envolvimento de vrios orgos e sistemas, a doena de Whipple tem uma
apresentao clnica variegada. As caractersticas clnicas mais comuns relacionam-se
com o intestino delgado, o sistema msculo-esqueltico, o sistema cardiovascular, o
sistema nervoso central e outras reas.
1. Tracto gastrointestinal
Os principais sintomas so devidos ao envolvimento do intestino delgado e conse-
quente m absoro: diarreia, esteatorreia, flatulncia, perda de peso e anorexia. Em
consequncia da m absoro, ocorrem manifestaes de dfice de nutrientes, desig-
nadamente anemia, hemorragias e osteopenia. A m absoro de protenas pode
determinar edema e ascite.
No exame fsico pode palpar-se um massa por envolvimento dos gnglios linfticos,
esplenomeglia e distenso de ansas intestinais. Ocasionalmente detecta-se peritoni-
te.
2. Sistema msculo-esqueltico
Em cerca de 80-90% dos casos ocorrem artralgias e/ou artrite, que podem ser a nica
manifestao da doena ao longo de anos. A poliartrite ligeira, migratria e epis-
dica, no induzindo deformidade ou leso articular permanente.
3. Sistema cardiovascular
Um achado comum a hipotenso arterial. Podem observar-se leses cardio-vascula-
res significativas: endocardite, miocardite e pericardite. A endocardite envolvendo a
vlvula mitral uma complicao comum.
4. Sistema nervoso central
Esto descritas mltiplas manifestaes psiquitricas e neurolgicas: demncia, con-
vulses, ataxia cerebelosa, distrbios visuais, oftalmoplegia supranuclear, mioclonias
e mielopatia em 25-50% dos doentes. Outras alteraes neurolgicas incluem: esta-
do confusional, sinais piramidais, coma, deteriorao intelectual e manifestaes hipo-
talmicas. Nalguns casos h poliria e polidipsia. Embora raras, as mioritmias oculo-
mastigadoras e oculo-facial-esquelticas, so patognomnicas da doena de Whipple.
5.Outros dados clnicos
Em cerca de 50% dos doentes ocorre uma febrcula, que pode ser a nica manifesta-
o clnica durante anos.
Tambm em cerca de 50% dos casos detecta-se hiperpigmentao generalizada, mais
nas reas expostas, mas no na mucosa bucal como sucede na doena de Addison.
Podem palpar-se ndulos subcutneos e sinais de prpura.
Linfadenopatias mesentricas, retroperitoneais e mediastnicas, anemia, distrbios da
Doenas do Aparelho Digestivo
306
coagulao, so achados no sistema hematopoitico.
No sistema respiratrio podemos detectar tosse crnica, derrame pleural, infiltrado
pulmonar e linfadenopatia hilar.
Diagnstico
O diagnstico da doena de Whipple usualmente estabelecido mediante bipsia do
intestino delgado. Um recente teste de grande utilidade diagnstica a deteco por
PCR da fraco ribossmica 16 S do RNA do Tropheryma whippelii.
Outros estudos a realizar: VS, hemograma, proteinmia, sidermia, folato e Vit. B12
no soro, teste da xilose, anlise quantitativa da gordura fecal, Rx do intestino delga-
do, TAC e/ou RM.
Tratamento
Se no tratada, a doena de Whipple fatal. A teraputica antibitica assegura uma
recuperao notvel, com resoluo histolgica total em cerca de 2 anos.
O tratamento de eleio envolve a administrao prolongada de trimetoprim-sulfame-
toxazole, porque atravessa a barreira hemato-enceflica. essencial fornecer um
suplemento de folato.
B. Proliferao bacteriana
O tracto gastrointestinal do recm-nascido comea a ser colonizado por bactrias den-
tro de 24 horas aps o nascimento. Com a amamentao natural predominam os
microorganismos Gram-positivos, e com o aleitamento artificial predominam os Gram-
negativos. A microflora estabiliza pelas 3-4 semanas, e assim permanece ao longo da
vida.
A flora bacteriana normal do tracto gastrointestinal encontra-se sumariada no quadro
seguinte:
Uma vez estabilizada a microflora aps o parto, h pequenas alteraes na sua com-
posio ao longo da vida, pelo menos no clon. Contudo, no estmago e no intesti-
no proximal podem ocorrer modificaes em certas situaes. Os factores que afec-
tam a flora bacteriana do tracto gastrointestinal so os seguintes:
As sindromes de proliferao bacteriana podem ser assintomticas, ou originar qua-
dros severos de m absoro. Quando estas sndromes ocorrem, a flora do intestino
delgado proximal assemelha-se do clon. Pode haver diarreia, provavelmente de ori-
INTESTINO - Infeces Intestinais
307
gem multifactorial, e os doentes desenvolvem deficincias em Vit. B12, no corrigida
por factor intrnseco, mas por antibiticos.
Estas sindromes de proliferao bacteriana so difceis de diagnosticar. Alm da sua
Doenas do Aparelho Digestivo
308
FLORA BACTERIANA DO TRACTO GASTROINTESTINAL EXPRESSA EM NMERO DE
BACTRIAS POR GRAMA DE CONTEDO INTESTINAL
Estmago Jejuno teo Clon
Contagem total de bactrias 0-10
3
0-10
4
10
5
-10
8
10
10
-10
12
Estirpe predominante Aerbios Aerbios Aerbios / Gram - /
Gram + Gram + / Anaerbios / Anaerbios
Anaerbios 0 0 10
3
-10
7
10
9
-10
12
Enterobactrias Poucas <10
3
10
2
-10
6
10
4
-10
10
PH luminal 3.0 6.0 7.0 7.5 6.8 7.3
Factor Efeito
Aleitamento materno v. artificial Favorece bactrias Gram +
Acloridria Proliferao bacteriana no estmago e no intestino
Hipomotilidade Idem
Antibiticos Reduo nas bactrias Gram -, mas persistem os
anaerbios
Imunodeficincia Proliferao de estirpes Gram +
associao com as anomalias estruturais clssicas (diverticulose jejunal, ansa cega
cirrgica), podem estar associadas cirrose heptica, pancreatite crnica, insufi-
cincia renal, enteropatia da Sida e ao envelhecimento.
A sua presena sugerida pela deteco de elevados nveis de folato no sangue e
talvez tambm por anticorpos antigliadina falso-positivos. Contudo, a cultura quanti-
tativa do fluido intestinal continua a ser o gold standard no diagnstico. Se se
obtm valores de contagem total de bactrias >10
5
CFU/ml (gr), ou contagens de bac-
trias gram negativas >10
3
CFU/ml (gr), ou contagens de anaerbios >10
2
CFU/ml (gr),
pode afirmar-se que existe uma sndrome de proliferao bacteriana. CFU: colony-for-
ming units.
Provavelmente a tcnica mais prtica para o estudo quantitativo da flora intestinal,
a cultura de bipsias endoscpicas, como foi recentemente evidenciado.
Alm da cultura, h testes indirectos para deteco da proliferao bacteriana, que
tm a vantagem de no serem invasivos, e so provavelmente mais eficazes na defi-
nio da flora bacteriana da parte mdia ou distal do intestino delgado. Baseiam-se
na administrao de um substrato por via oral (xilose, lactulose, cidos biliares), e na
avaliao do seu catabolismo no ar expirado: H
2
+ CH
4
, ou
13
CO
2
, ou
14
CO
2
.
No quadro seguinte, comparam-se os testes indirectos actualmente disponveis, com
o mtodo da cultura:
O tratamento essencial das sindromes de proliferao bacteriana, consiste na admi-
nistrao de antibiticos em dose baixa (por ex. tetraciclina, cefalexina, penicilina),
que podem ser ministrados continuamente em casos severos, ou ciclicamente (uma
semana em cada quatro semanas). H autores que propem a associao de antibi-
ticos com probiticos.
Est ainda por esclarecer se os probiticos, designadamente os Lactobacillus, desem-
penham um papel benfico em vrias situaes onde tm sido advogada a sua utili-
zao: gastroenterite, preveno da diarreia por antibiticos, preveno da diarreia do
viajante, melhoria dos quadros de proliferao bacteriana, melhoria das situaes
ps-rdio ou quimioterpia, preveno do cancro intestinal.
C. Sprue tropical
O sprue tropical descreve uma sindrome caracterizada por diarreia crnica, seguida de
anorexia, perda de peso, glossite, profunda astenia e emaciao. Embora descrita ori-
ginariamente em europeus deportados para zonas tropicais, esta sindrome foi ulte-
riormente identificada em habitantes indgenas. Usualmente esta enteropatia assin-
tomtica, e nesse caso designada de enteropatia tropical. Quando h sintomas, d-
se a esta sindrome a designao de sprue tropical.
A enteropatia tropical tem sido reportada em indivduos aparentemente saudveis na
Tailndia, Malsia, India, Paquisto e Burma. O sprue tropical pode induzir m absor-
o significativa de hidratos de carbono. A enteropatia tropical provocada por pro-
liferao bacteriana provavelmente resultante de perda da barreira cida gstrica,
diminuio da motilidade e falncia na eliminao intraluminal de bactrias colifor-
mes. O principal factor parece ser a perda da barreira cida do estmago, talvez moti-
vada pela infeco precoce pelo H. pylori.
O tratamento do sprue tropical envolve a administrao de cido flico associado a
Vit. B12, combinao que melhora a glossite, a anemia megaloblstica, a letargia e a
perda de apetite, enquanto que os antibiticos eliminam os sintomas gastrointesti-
INTESTINO - Infeces Intestinais
309
TESTE DE ESTUDO DA PROLIFERAO BACTERIANA
Teste Sensibilidade Especificidade
Cultura Elevada Elevada
14
C-coliglicina Regular Fraca
14
C-D-xilose Elevada Mdia / Elevada
H
2
+CH
4
/glicose ou lactulose Baixa Mdia
nais.
D. Tuberculose intestinal
Embora a tuberculose intestinal ainda seja prevalente em muitos pases subdesenvol-
vidos, est a volver-se cada vez mais infrequente dada a acessibilidade quimioter-
pia efectiva da tuberculose pulmonar.
A tuberculose intestinal resulta invariavelmente da ingesto de bacilos de tuberculo-
se que infectam o intestino delgado, o local predilecto desta infeco, sobretudo o
leo terminal e a vlvula ileo-cecal, onde predomina o tecido linftico. As leses apre-
sentam-se sob a forma de uma ulcerao anular ou oval. Com o tempo, podem sur-
gir estenoses e fstulas, alm de proliferao bacteriana. O achado histolgico domi-
nante a presena do tpico granuloma.
O Mycobacterium tuberculosis deve ser considerado potencial causa da diarreia crni-
ca associada a significativa perda de peso, febre e suores nocturnos. Um achado
importante a ocorrncia de dor abdominal ou desconforto, frequentemente localiza-
dos no flanco direito.
O diagnstico baseado na suspeita radiolgica confirmada pela presena de bacilos
de Koch nas bipsias intestinais. A combinao teraputica deve incluir a isoniazida,
a rifampicina, o etambutol e a pirazinamida, at que sejam conhecidas as sensibilida-
des aos frmacos. A teraputica deve ser ministrada durante 6 meses, no mnimo.
Doenas do Aparelho Digestivo
310
INTESTINO - Infeces Intestinais
311
REFERNCIAS
Davidson G. Viral infections. In: Ratnaike RN (Ed.). Small Bowel Disorders. Arnold 2000:316-323.
Ratnaik RN e, Papanaoum K. Bacterial infections. In: Ratnaike RN (Ed.). Small Bowel Disorders. Arnold 2000:324-340.
Ratnaike RN. Whipples disease. In: Ratnaike RN (Ed.). Small Bowel Disorders. Arnold 2000:324-340.
Mathau VI, Mathau MM. Tropical sprue. In: Ratnaike RN (Ed.). Small Bowel Disorders. Arnold 2000:375-380.
Midthun K, Kapikian AZ. Viral gastroenteritis. In: Surawicz C, Owen RL (Ed.). Gastrointestinal and Hepatic Infections.
W.B. Saunders Co. 1995:75-92.
Janoff EN. Diarrheal disease with viral enteric infections in immunocompromised patients. In: Surawicz C, Owen RL (Ed.).
Gastrointestinal and Hepatic Infections. W.B. Saunders Co. 1995:93-120.
Tarr PI. Approach to the patient with acute bloody diarrhea. In: Surawicz C, Owen RL (Ed.). Gastrointestinal and Hepatic Infections.
W.B. Saunders Co. 1995:121-152.
McFarland L. Clostridium difficile associated disease. In: Surawicz C, Owen RL (Ed.). Gastrointestinal and Hepatic Infections.
W.B. Saunders Co. 1995:153-176
Steele PE, Fenoglio-Preiser C. Laboratory performance in the diagnosis of gastrointestinal infections. In: Surawicz C, Owen RL (Ed.).
Gastrointestinal and Hepatic Infections. W.B. Saunders Co. 1995:477-486.
Levine MM, Savarino. The treatment of acute diarrhea. In: Surawicz C, Owen RL (Ed.). Gastrointestinal and Hepatic Infections.
W.B. Saunders Co. 1995:519-536.
Schron CM, Giannella RA. Bacterial enterotoxines. In: Field M (Ed.). Diarrheal Diseases. Elsevier 1991:115-138.
Herrington DA, Taylor DN. Bacterial Enteridities. In: Field M (Ed.). Diarrheal Diseases. Elsevier 1991:239-292.
Fekety R. Antibiotic-associated diarrhea. In: Field M (Ed.). Diarrheal Diseases. Elsevier 1991:293-318.
Thielman NM, Guerrant RL. Pathophysiology of gastrointestinal infections. In: Friedman G, Jacobson E, McCallum RW (Eds.).
Gastrointestinal Pharmacology & Therapeutics. Lippincot-Raven 1997:193-200.
Greenberg RN, Zeytin S, Kortas KJ. Pharmacology of small bowel infections. Pathogens and therapeutic approaches.
In: Friedman G, Jacobson E, McCallum RW (Eds.). Gastrointestinal Pharmacology & Therapeutics. Lippincot-Raven 1997:215-248.
Steiner TS, Guerrant RL. Infections of the colon. In: Friedman G, Jacobson E, McCallum RW (Eds.). Gastrointestinal Pharmacology &
Therapeutics. Lippincot-Raven 1997:249-266.
Gianella RA. Treatment of acute infections diarrhea. In: Wolfe MM (Ed.). Therapy of Digestive Disorders. W.B. Saunders Co. 2000:503-512.
Kelly CP, Thomas LaMont J. Treatment of Clostridium difficile diarrhea and colitis. In: Wolfe MM (Ed.). Therapy of Digestive Disorders.
W.B. Saunders Co. 2000:513-522.
Vanderhoof J (Eds.). Functional significance of the bowel microflora in gastrointestinal health: proceedings of a roundtable discussion.
Am J Gastroenterol 2000;95(1-suppl):S1-S27.
Vouk RJ (Ed.). Manipulation of colonic flora as ecosystem and metabolic organ:consequences for the organism. Scand J
Gastroenterol 1997;32 suppl 222):1-114.
Tom Ribeiro A (Ed.). Diarreias crnicas. Permanyer Portugal 1997.
Sarmento JA, Macedo G, Mascarenhas Saraiva M et al. Etiologia de diarreias agudas. Rev. de Gastrenterol 1991;VIII:29-38.
Marteau Ph. Les diarrhes chroniques. Gastroenterol Clin Biol 199973-95.
Ilnyckyj A. Clinical evaluation and management of acute infections diarrhea in adults. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):599-610.
Cohen J, West B, Bini EJ. Infectious diarrhea in human immunodeficiency virus. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):637-664.
Ramzan NN. Travelers diarrhea. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):665-678.
Lee SD, Surawicz CM. Infectious causes of chronic diarrhea. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):679-692.
Turgeon DK, Fritsche TR. Laboratory aproaches to infectious diarrhea. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):693-708.
Goldweig CD, Pacheco PA. Infectious colitis excluding E. Col O157:H7 and C. difficile. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):709-734.
Tarr PI, Neill MA. Escherichia coli O157:H7. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):735-752.
Kyne L, Farrell RJ, Kelly CP. Clostridium difficile. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):753-778.
Goodgame RW. Viral causes of diarrhea. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):779-796.
Oldfield III E, Wallace MR. The role of antibiotics in the treatment of infectious diarrhea. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):817-836.
Elmer GW, McFarland LV. Biotherapeutic agents in the treatment of infectious diarrhea. Gastroenterol Clin N Am 2001;30(3):837-854.
Svenungsson B, Lagergren A, Lundberg A. Clostridium difficile cytotoxin B in adults with diarrhea: a comparison of patients treated or not
treated with antibiotics prior to infection. Clin Microbiol Infect. 2001 Aug;7(8):447-50.
Wongwanich S, Pongpech P, Dhiraputra C, et al. Characteristics of Clostridium difficile strains isolated from asymptomatic individuals and
from diarrheal patients. Clin Microbiol Infect. 2001 Aug;7(8):438-41.
Johnson S, Kent SA, OLeary KJ, et al. Fatal pseudomembranous colitis associated with a variant clostridium difficile strain not detected by
toxin A immunoassay. Ann Intern Med. 2001 Sep 18;135(6):434-8.
Friedenberg F, Fernandez A, Kaul V, et al. Intravenous metronidazole for the treatment of Clostridium difficile colitis. Dis Colon
Rectum. 2001 Aug;44(8):1176-80.
Miller FH, Ma JJ, Scholz FJ. Imaging features of enterohemorrhagic Escherichia coli colitis. AJR Am J Roentgenol. 2001 Sep;177(3):619-23.
Sheppard MJ. Rational protocols for testing faeces in the investigation of sporadic hospital-acquired diarrhoea.
J Hosp Infect. 2001 Sep;49(1):80-1.
Riordan SM, McIver CJ, Duncombe VM, Thomas MC, Nagree A, Bolin TD. Small intestinal bacterial overgrowth and the irritable bowel syndro-
me. Am J Gastroenterol. 2001 Aug;96(8):2506-8.
Mishkin D, Mishkin S. Eradication of small intestinal bacterial overgrowth reduces symptoms of irritable bowel syndrome.
Am J Gastroenterol. 2001 Aug;96(8):2505-6.
Ackermann G, Tang YJ, Jang SS, Silva J, et al. Isolation of Clostridium innocuum from cases of recurrent diarrhea in patients with prior
Clostridium difficile associated diarrhea. Diagn Microbiol Infect Dis. 2001 Jul;40(3):103-6.
Rasolofo-Razanamparany V, Cassel-Beraud AM, Roux J, et al. Predominance of serotype-specific mucosal antibody response in Shigella flex-
neri-infected humans living in an area of endemicity. Infect Immun. 2001 Sep;69(9):5230-4.
Peek RM Jr. Molecular dissection of the mechanisms through which enteropathogenic Escherichia coli induce diarrhea.
Gastroenterology. 2001 Aug;121(2):496-7.
Hasler WL. Persistent colonic inflammation in postinfectious IBS: symptom cause or curiosity? Gastroenterology. 2001 Aug;121(2):493-4.
Spapen H, Diltoer M, Van Malderen C, et al. Soluble fiber reduces the incidence of diarrhea in septic patients receiving total enteral nutri-
tion: a prospective, double-blind, randomized, and controlled trial. Clin Nutr. 2001 Aug;20(4):301-5.
Kato H, Kita H, Karasawa T, et al. Colonisation and transmission of Clostridium difficile in healthy individuals examined by PCR ribotyping
and pulsed-field gel electrophoresis. J Med Microbiol. 2001 Aug;50(8):720-7.
Dutta S, Chatterjee A, Dutta P, et al. Sensitivity and performance characteristics of a direct PCR with stool samples in comparison to conven-
tional techniques for diagnosis of Shigella and enteroinvasive Escherichia coli infection in children with acute diarrhoea in Calcutta, India. J
Med Microbiol. 2001 Aug;50(8):667-74.
Usher J, Green L, Leung D. Culturing of stool samples from hospital inpatients. Lancet. 2001 Jul 14;358(9276):152.
Aronson NE, Cheney C, Rholl V, Burris D, Hadro N. Biliary giardiasis in a patient with human immunodeficiency virus.
J Clin Gastroenterol. 2001 Aug;33(2):167-70.
Cuoco L, Cammarota G, Jorizzo R, Gasbarrini G. Small intestinal bacterial overgrowth and symptoms of irritable bowel syndrome.
Am J Gastroenterol. 2001 Jul;96(7):2281-2.
Phillips C. Serum antibody responses to Clostridium difficile toxin A: predictive and protective? Gut. 2001 Aug;49(2):167-8.
Harbarth S, Samore MH, Carmeli Y. Antibiotic prophylaxis and the risk of Clostridium difficile-associated diarrhoea.
J Hosp Infect. 2001 Jun;48(2):93-7.
Alonso R, Gros S, Pelaez T, et al. Molecular analysis of relapse vs re-infection in HIV-positive patients suffering from recurrent Clostridium
difficile associated diarrhoea. J Hosp Infect. 2001 Jun;48(2):86-92.
Fujita M, Koga H, Iida M, et al. Aphthoid pancolitis in a patient with a verotoxin-producing Escherichia coli infection.
Gastrointest Endosc. 2001 Jul;54(1):110-3.
Fontaine O, Newton C. A revolution in the management of diarrhoea. Bull World Health Organ. 2001;79(5):471-2.
Varma M, Sachdeva V, Diwan N. Incidence of enteroadherence in diarrhoegenic Escherichia coli in infants in Delhi.
J Commun Dis. 2000 Sep;32(3):161-8.
Jimenez-Saenz M, Gomez-Rodriguez BJ, Carmona I, et al. Salmonella dublin infection: a rare cause of spontaneous bacterial peritonitis and
chronic colitis in alcoholic liver cirrhosis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 May;13(5):587-9.
Romney M. Escherichia coli infections and hemolytic-uremic syndrome. CMAJ. 2001 May 15;164(10):1406.
Leung VK, Tang WL, Cheung CH, Lai MS. Importance of ileoscopy during colonoscopy for the early diagnosis of ileal tuberculosis: report of
two cases. Gastrointest Endosc. 2001 Jun;53(7):813-5.
Naga MI, Okasha HH, Ismail Z, et al. Endoscopic diagnosis of colonic tuberculosis. Gastrointest Endosc. 2001 Jun;53(7):789-93.
Ketelslegers E, Danse E, Pringot J. Pseudomembranous colitis. JBR-BTR. 2001 Apr;84(2):67.
Wanke CA. To know Escherichia coli is to know bacterial diarrheal disease. Clin Infect Dis. 2001 Jun 15;32(12):1710-2.
Adachi JA, Jiang ZD, Mathewson JJ, et al. Enteroaggregative Escherichia coli as a major etiologic agent in travelers diarrhea in 3 regions of
the world. Clin Infect Dis. 2001 Jun 15;32(12):1706-9.
Pickering LK. Antibiotic therapy of colitis. Pediatr Infect Dis J. 2001 Apr;20(4):465-6.
Lozniewski A, Rabaud C, Dotto E, Weber M, Mory F. Laboratory diagnosis of Clostridium difficile-associated diarrhea and colitis: usefulness
of Premier Cytoclone A+B enzyme immunoassay for combined detection of stool toxins and toxigenic C. difficile strains. J Clin Microbiol. 2001
May;39(5):1996-8.
Landry ML, Topal J, Ferguson D, Giudetti D, Tang Y. Evaluation of biosite triage Clostridium difficile panel for rapid detection of Clostridium
difficile in stool samples. J Clin Microbiol. 2001 May;39(5):1855-8.
Hawkes ND, Thomas GA. Unexplained weight loss and a palpable abdominal mass in a middle aged woman. Abdominal tuberculosis.
Postgrad Med J. 2001 May;77(907):341, 348-9.
Antinori S, Galimberti L, Parente F. Intestinal tuberculosis as a cause of chronic diarrhoea among patients with human immunodeficiency virus
infection: report of two cases. Dig Liver Dis. 2001 Jan-Feb;33(1):63-7.
Weber TS. When are stool cultures indicated for hospitalized patients with diarrhea not caused by Clostridium difficile (C-diff)?
J Fam Pract. 2001 Apr;50(4):300.
Rich C, Alfidja A, Sirot J, Joly B, Forestier C. Identification of human enterovirulent Escherichia coli strains by multiplex PCR.
J Clin Lab Anal. 2001;15(2):100-3.
Stock KJ, Scott MA, Davis SF, et al. Hemorrhagic colitis due to a novel Escherichia coli serotype (O121:H19) in a transplant patient.
Transpl Int. 2001;14(1):44-7.
Lamps LW, Madhusudhan KT, Greenson JK, et al. The role of Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis in granulomatous appen-
dicitis: a histologic and molecular study. Am J Surg Pathol. 2001 Apr;25(4):508-15.
Tagliabue L, Majoli C, Pajoro U, et al. Labelled leukocytes for diagnosis of infectious diseases. Our experience in labelling and clinical use-
fulness. Minerva Med. 2000 Nov-Dec;91(11-12):267-74.
Szajewska H, Kotowska M, Mrukowicz JZ, et al. Efficacy of Lactobacillus GG in prevention of nosocomial diarrhea in infants.
J Pediatr. 2001 Mar;138(3):361-5.
Riordan SM, McIver CJ, Wakefield D, et al. Small intestinal mucosal immunity and morphometry in luminal overgrowth of indigenous gut flora.
Am J Gastroenterol. 2001 Feb;96(2):494-500.
Rabbani GH, Islam S, Chowdhury AK, et al. Increased nitrite and nitrate concentrations in sera and urine of patients with cholera or shigel-
losis. Am J Gastroenterol. 2001 Feb;96(2):467-72.
Raoult D, La Scola B, Lecocq P, et al. Culture and immunological detection of Tropheryma whippelii from the duodenum of a patient with
Whipple disease. JAMA. 2001 Feb 28;285(8):1039-43.
Kirkpatrick ID, Greenberg HM. Evaluating the CT diagnosis of Clostridium difficile colitis: should CT guide therapy?
AJR Am J Roentgenol. 2001 Mar;176(3):635-9.
Alamanos Y, Maipa V, Levidiotou S, Gessouli E. A community waterborne outbreak of gastro-enteritis attributed to Shigella sonnei.
Epidemiol Infect. 2000 Dec;125(3):499-503.
Kyne L, Warny M, Qamar A, Kelly CP. Association between antibody response to toxin A and protection against recurrent Clostridium diffici-
le diarrhoea. Lancet. 2001 Jan 20;357(9251):189-93.
Wilcox M, Minton J. Role of antibody response in outcome of antibiotic-associated diarrhoea. Lancet. 2001 Jan 20;357(9251):158-9.
Rappelli P, Maddau G, Mannu F, et al. Development of a set of multiplex PCR assays for the simultaneous identification of enterotoxigenic,
enteropathogenic, enterohemorrhagic and enteroinvasive Escherichia coli. New Microbiol. 2001 Jan;24(1):77-83.
Fagundes Neto U, Affonso Scaletsky IC. Escherichia coli infections and malnutrition. Lancet. 2000 Dec;356 Suppl:s27.
ORyan M, Prado V. Risk of the hemolytic-uremic syndrome after antibiotic treatment of Escherichia coli O157:H7 infections.
N Engl J Med. 2000 Oct 26;343(17):1271; discussion 1272-3.
Aragon T, Fernyak S, Reiter R. Risk of the hemolytic-uremic syndrome after antibiotic treatment of Escherichia coli O157:H7 infections.
N Engl J Med. 2000 Oct 26;343(17):1271-2; discussion 1272-3.
Talan D, Moran GJ, Newdow M, et al. Etiology of bloody diarrhea among patients presenting to United States emergency departments: pre-
valence of Escherichia coli O157:H7 and other enteropathogens. Clin Infect Dis. 2001 Feb 15;32(4):573-80.
Fujii Y, Taniguchi N, Itoh K. Sonographic findings in Shigella colitis. J Clin Ultrasound. 2001 Jan;29(1):48-50.
Maiwald M, von Herbay A, Persing DH, et al. Tropheryma whippelii DNA is rare in the intestinal mucosa of patients without other evidence
of Whipple disease. Ann Intern Med. 2001 Jan 16;134(2):115-9.
Doenas do Aparelho Digestivo
312
Bauer TM, Lalvani A, Fehrenbach J, et al. Derivation and validation of guidelines for stool cultures for enteropathogenic bacteria other than
Clostridium difficile in hospitalized adults. JAMA. 2001 Jan 17;285(3):313-9.
Coimbra RS, Lenormand P, Grimont F, et al. Molecular and phenotypic characterization of potentially new Shigella dysenteriae serotype.
J Clin Microbiol. 2001 Feb;39(2):618-21.
Hopkins MJ, Sharp R, Macfarlane GT. Age and disease related changes in intestinal bacterial populations assessed by cell culture, 16S rRNA
abundance, and community cellular fatty acid profiles. Gut. 2001 Feb;48(2):198-205.
Toledo TK, DiPalma JA. Antibiotics are effective in the treatment of bacterial overgrowth-related diarrhea.
Am J Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3644-5.
Poduval RD, Kamath RP, Corpuz M, et al. Clostridium difficile and vancomycin-resistant enterococcus: the new nosocomial alliance.
Am J Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3513-5.
Pimentel M, Chow EJ, Lin HC. Eradication of small intestinal bacterial overgrowth reduces symptoms of irritable bowel syndrome. Am J
Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3503-6.
Persky SE, Brandt LJ. Treatment of recurrent Clostridium difficile-associated diarrhea by administration of donated stool directly through a
colonoscope. Am J Gastroenterol. 2000 Nov;95(11):3283-5.
Bulusu M, Narayan S, Shetler K, Triadafilopoulos G. Leukocytosis as a harbinger and surrogate marker of Clostridium difficile infection in hos-
pitalized patients with diarrhea. Am J Gastroenterol. 2000 Nov;95(11):3137-41.
Borody TJ. Flora Power fecal bacteria cure chronic C. difficile diarrhea. Am J Gastroenterol. 2000 Nov;95(11):3028-9.
Bartlett JG. Leukocytosis and Clostridium difficile-associated diarrhea. Am J Gastroenterol. 2000 Nov;95(11):3023-4.
Olsen SJ, Hansen GR, Bartlett L, et al. An outbreak of Campylobacter jejuni infections associated with food handler contamination: the use
of pulsed-field gel electrophoresis. J Infect Dis. 2001 Jan 1;183(1):164-7.
Spiller RC, Jenkins D, Thornley JP, et al. Increased rectal mucosal enteroendocrine cells, T lymphocytes, and increased gut permeability follo-
wing acute Campylobacter enteritis and in post-dysenteric irritable bowel syndrome. Gut. 2000 Dec;47(6):804-11.
Hoffner RJ, Slaven E, Perez J, Magana RN, Henderson SO. Emergency department presentations of typhoid fever.
J Emerg Med. 2000 Nov;19(4):317-21.
Vila J, Vargas M, Henderson IR, Gascon J, Nataro JP. Enteroaggregative escherichia coli virulence factors in travelers diarrhea strains.
J Infect Dis. 2000 Dec;182(6):1780-3.
Abdel-Haq NM, Asmar BI, Abuhammour WM, Brown WJ. Yersinia enterocolitica infection in children. Pediatr Infect Dis J. 2000 Oct;19(10):954-8.
Surawicz CM, McFarland LV, Greenberg RN, et al. The search for a better treatment for recurrent Clostridium difficile disease: use of high-
dose vancomycin combined with Saccharomyces boulardii. Clin Infect Dis. 2000 Oct;31(4):1012-7.
Mayfield JL, Leet T, Miller J, Mundy LM. Environmental control to reduce transmission of Clostridium difficile. Clin Infect
Dis. 2000 Oct;31(4):995-1000.
Bass DM. Vaccines for bacterial enteritis: what is new and why it matters. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000 Oct;31(4):365-6.
Widdowson MA, van Doornum GJ, van der Poel WH, et al. Emerging group-A rotavirus and a nosocomial outbreak of diarrhoea.
Lancet. 2000 Sep 30;356(9236):1161-2.
Chang VT, Nelson K. The role of physical proximity in nosocomial diarrhea. Clin Infect Dis. 2000 Sep;31(3):717-22.
Johnson S, Sanchez JL, Gerding DN. Metronidazole resistance in Clostridium difficile. Clin Infect Dis. 2000 Aug;31(2):625-6.
Voltersvik P, Halstensen A, Langeland N, Digranes A, Peterson LE, Rolstad T, Solberg CO. Eradication of non-typhoid salmonellae in acute
enteritis after therapy with ofloxacin for 5 or 10 days. J Antimicrob Chemother. 2000 Sep;46(3):457-9.
McFarland LV. Re: probiotics and C difficile diarrhea. Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8):2128.
Aboud W, Marshall R, Berkelhammer C. Pseudomembranous colitis. Gastrointest Endosc. 2000 Aug;52(2):234.
Zimmerhackl LB. E. coli, antibiotics, and the hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med. 2000 Jun 29;342(26):1990-1.
Wong CS, Jelacic S, Habeeb RL, Watkins SL, Tarr PI. The risk of the hemolytic-uremic syndrome after antibiotic treatment of Escherichia coli
O157:H7 infections. N Engl J Med. 2000 Jun 29;342(26):1930-6.
Rupnik M. How to detect Clostridium difficile variant strains in a routine laboratory. Clin Microbiol Infect. 2001 Aug;7(8):417-20.
Delmee M. Laboratory diagnosis of Clostridium difficile disease. Clin Microbiol Infect. 2001 Aug;7(8):411-6.
Barbut F, Petit JC. Epidemiology of Clostridium difficile-associated infections. Clin Microbiol Infect. 2001 Aug;7(8):405-10.
Klingler PJ, Metzger PP, Seelig MH, et al. Clostridium difficile infection: risk factors, medical and surgical management.
Dig Dis. 2000;18(3):147-60.
Puechal X. Whipple disease and arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2001 Jan;13(1):74-9.
Bergogne-Berezin E. Treatment and prevention of antibiotic associated diarrhea. Int J Antimicrob Agents. 2000 Dec;16(4):521-6.
Miron D, Sochotnick I, Yardeni D, Kawar B, Siplovich L. Surgical complications of shigellosis in children.
Pediatr Infect Dis J. 2000 Sep;19(9):898-900.
Stoner MC, Forsythe R, Mills AS, Ivatury RR, Broderick TJ. Intestinal perforation secondary to Salmonella typhi: case report and review of the
literature. Am Surg. 2000 Feb;66(2):219-22.
INTESTINO - Infeces Intestinais
313
Doenas do Aparelho Digestivo
INTESTINO - Parasitoses Intestinais
315
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XIV
PARASITOSES INTESTINAIS
1. Protozorios
2. Nemtodos
3. Cstodos
4. Tremtodos
315
Doenas do Aparelho Digestivo
Os parasitas intestinais encontram-se em todas as reas do globo, mas so mais pre-
valentes nos trpicos, onde existem condies mais favorveis para a sua transmis-
so e para os hospedeiros intermedirios. Exercem o seu efeito no tracto digestivo de
forma variada, induzindo nuns casos leso tissular, noutros casos provocando reac-
es imunolgicas, ou ainda competindo com o hospedeiro na captao dos nutrien-
tes. Alguns migram e causam manifestaes extra-intestinais. Muitas infestaes so
assintomticas. O diagnstico baseia-se na deteco do parasita nos fluidos ou teci-
dos orgnicos, sendo ainda ocasionalmente utilizados testes serolgicos. O tratamen-
to est indicado nas infestaes sintomticas, e mesmo nos quadros assintomticos
quando o parasita potencialmente perigoso, devendo ser fornecidas instrues para
a preveno da reinfestao. Medidas de higiene e educacionais so importantes na
profilaxia das parasitoses. Vamos descrever, de forma condensada, as parasitoses
mais frequentes no nosso Pas, considerando sucessivamente as infestaes por pro-
tozorios , nemtodos, cstodos e tremtodos.
1. PROTOZORIOS
GIARDASE
Trata-se de uma infestao pela Giardia lamblia, que ocorre nos pases temperados e
tropicais. O organismo ingerido na sua forma enquistada, e no intestino delgado o
quisto divide-se com formao de dois trofozotos, que se continuam a dividir com rela-
tiva facilidade. Os quistos e os trofozotos so excretados nas fezes. Os quistos perma-
necem viveis na gua at trs meses, sendo a infestao contrada pela ingesto de
guas contaminadas, ou pela via fecaloral. Muitos estudos tm evidenciado que os
quistos so observados nas fezes de 1-10% de indivduos assintomticos, assumindo-
se por isso que a G. lamblia um microorganismo comensal em muitos indivduos.
A fixao de um grande nmero de trofozotos ao epitlio intestinal pode criar uma
barreira mecnica absoro e, nalguns casos, lesar a mucosa, que pode inclusiv
ser invadida. A proliferao de G. lamblia facilitada pela coexistncia de uma micro-
flora bacteriana rica, explicando-se deste modo a elevada incidncia de giardase na
hipogamaglobulinmia.
Muitas infestaes so assintomticas. Nos doentes sintomticos, h um perodo de
incubao de uma a trs semanas, seguido de diarreia, distenso abdominal, descon-
forto ou dor e hipersensibilidade presso, astenia, anorexia, emagrecimento, nu-
seas e vmitos. Usualmente, estes sintomas agudos duram somente alguns dias, mas
ocasionalmente podem continuar durante meses.
Os exames complementares podem evidenciar malabsoro da xilose e da Vit. B
12
,
esteatorreia, intolerncia lactose e nveis baixos de folato no soro. O estudo radio-
INTESTINO - Parasitoses Intestinais
317
lgico do intestino delgado pode mostrar alteraes inespecficas, com espessamen-
to das pregas. A bipsia intestinal demonstra a presena de pequenas alteraes
estruturais, observando-se atrofia vilositria parcial, destruio das clulas das criptas
e aumento das mitoses.
O diagnstico feito por exame microscpico do suco duodenal. Em alternativa, se
se fizer bipsia jejunal, esfrega-se a superfcie luminal do fragmento numa lmina e
cora-se a preparao com Giemsa, surgindo a G. lamblia de tom purprico. Este pro-
tozorio pode ainda ser reconhecido em seces da bipsia intestinal, sendo a iden-
tificao facilitada pela colorao com o reagente de Masson, aps fixao pelo Bouin.
O exame das fezes para pesquisa de quistos exige pessoal tcnico competente. Nesse
caso, quando se realizam trs estudos das fezes, colectadas com dois dias de inter-
valo, diagnosticam-se mais de 90% das infestaes.
Tratamento da giardase:
Metronidazole, oral, na dose de 250 mgr, trs vezes/dia, durante 5 dias.
ou
Furazolidona, oral, 100 mgr, quatro vezes/dia, durante 7-10 dias.
ou
Albendazole, 400 mgr/dia, durante cinco dias.
AMIBASE
uma infestao intestinal pelo protozorio Entamoeba histolytica, frequentemente
com disseminao hematognia para outros rgos, sobretudo para o fgado. Esta
parasitose pode encontrar-se em todas as reas de globo, sendo muitas vezes assin-
tomtica. O homem a nica fonte da infestao, constituindo os casos assintomti-
cos a maior causa de disseminao da doena numa comunidade. A transmisso
fecal-oral, sendo o quisto a forma infectante.
Deve distinguir-se entre a amibase endoluminal, que assintomtica, e a forma inva-
siva, que origina a doena. So ainda pouco conhecidos os factores que facilitam a
invaso da parede intestinal, sabendo-se que nas estirpes patognicas da E. histoly-
tica existem vrios graus de virulncia, no dependente da microflora bacteriana asso-
ciada, no existindo ainda mtodos que permitam distinguir as vrias estirpes pato-
gnicas. A depresso da imunidade com a idade, a m nutrio, doenas intercorren-
tes, a corticoterpia, a gravidez e outros factores, precedem em muitos casos a eclo-
so do processo.
Aps a invaso da parede intestinal pelo trofozoto, atravs das criptas, citolisinas por
ele libertadas induzem necrose tissular, com pequena resposta inflamatria. A doena
intestinal localiza-se no clon, observando-se ulceraes amibianas mais frequente-
Doenas do Aparelho Digestivo
318
mente no recto, cego e flexuras, podendo no entanto ocorrer envolvimento difuso. As
lceras so discretas e ovais, com o seu maior eixo disposto transversalmente, apre-
sentam bordos salientes e hipermicos, e o fundo est recoberto por uma membrana
que contm numerosas amebas. A no ser que exista um quadro de colite difusa,
observam-se retalhos de mucosa normal intervalando com reas lesadas. No exame
microscpico, a reaco inflamatria com polinucleares e eosinfilos localiza-se na
vizinhana das lceras, ou transmural. Mediante colorao com hematoxilina e eosi-
na, ou com o PAS, podem detectar-se as amebas nas margens e na base das lceras.
Podem existir complicaes locais, designadamente necrose macia resultante de
infeco bacteriana secundria, perfurao livre para a cavidade peritoneal, ou perfu-
rao encoberta para as estruturas vizinhas.
As amebas penetram na circulao portal e alcanam o fgado, onde a extensa necro-
se origina um abcesso amibiano, com paredes espessas e um contedo purulento,
estril, de cor cremosa ou acastanhada, contendo clulas necrosadas, glbulos ver-
melhos e picitos. As amebas encontram-se raramente neste material purulento, mas
so frequentes nas paredes do abcesso. Pode ocorrer uma infeco piognica secun-
dria. Cerca de 80% dos abcessos localizam-se no lobo direito do fgado, ocorrendo
em menos de 10% abcessos mltiplos. A doena pode estender-se e envolver a cavi-
dade pleural, os pulmes, o pericrdio, a cavidade peritoneal e a parede abdominal.
A disseminao hematognia causa abcessos a distncia.
S em 10% dos doentes existe simultaneamente amibase intestinal e haptica. Esta
sempre precedida de uma infestao intestinal activa, que se desenvolve insidiosa-
mente aps um perodo de incubao de alguns dias ou de muitos anos. O mais
importante e por vezes nico sintoma da amibase intestinal a diarreia, com ou sem
sangue e muco nas fezes. Nos casos de severidade mdia, a frequncia de dejeces
no ultrapassa usualmente cinco vezes/dia. Dor abdominal e febre podem ocorrer, no
se referindo tenesmo. A amibase intestinal severa infrequente, desenvolvendo-se
particularmente nos idosos, na mulher grvida e nos doentes que tomam corticides.
A sua forma fulminante indistinguvel clinicamente da disenteria bacilar ou da coli-
te ulcerosa severa. Pelo contrrio, a doena pode ser muito ligeira ou assintomtica.
No existem sinais fsicos especficos, palpando-se um abdmen moderadamente
doloroso e eventualmente um fgado aumentado e sensvel, mesmo na ausncia de
envolvimento amibiano.
O diagnstico da amibase intestinal baseia-se na deteco das amebas activas nas
fezes, na bipsia rectal ou em esfregaos das lceras intestinais. As bipsias devem
ser examinadas com a colorao pelo PAS ou com uma tcnica de imunofluorescn-
cia directa. As fezes frescas so examinadas sem colorao, sendo por vezes neces-
sria mais do que uma amostra para pesquisa do protozorio, sobretudo nos proces-
sos ligeiros. Quistos de E. histolytica podem ser observados nas fezes de portadores
assintomticos. A sigmoidoscopia nem sempre consegue distinguir entre colite amibia-
INTESTINO - Parasitoses Intestinais
319
na e colite ulcerosa ou disenteria bacilar, mas possibilita um exame imediato de fezes
frescas. Observa-se uma moderada elevao nos leuccitos do sangue perifrico nas
formas agudas, podendo ainda encontrar-se uma elevao da velocidade de sedimen-
tao e anemia hipocrmica. Tm sido descritos vrios testes imunolgicos para o
diagnstico da amibase intestinal. O teste de aglutinao do latex e o teste de hema-
glutinao indirecta so utilizados no estudo da prevalncia da amibase, dado que
permanecem positivos durante muito tempo. Um teste de precipitinas com gel-difu-
so, recentemente introduzido, indicaria a existncia de amibase invasiva. O clister
opaco pode evidenciar a existncia de irritabilidade clica e a presena de ulceraes
superficiais, mas estes aspectos no tm valor diagnstico.
A disenteria amibiana severa pode complicar-se de desidratao, hipovolmia, altera-
es electrolticas, hemorragia, anemia e insuficincia renal aguda. Quando existe per-
furao livre com peritonite, a mortalidade elevada. Como na colite ulcerosa, pode
ocorrer dilatao txica que condiciona, no raramente, perfurao intestinal. Nalguns
doentes, cerca de 10%, observa-se um quadro de colite psdisentrica,
caracterizado por inflamao clica persistente e ulceraes, aps a erradicao das
amebas. Embora alguns casos possam corresponder a situaes de colite ulcerosa
idioptica, precipitada ou complicada pela amibase, noutros casos a situao dis-
tinta, dado que se observa a sua resoluo espontnea aps alguns meses, e cons-
tata-se a ausncia de recidivas. Em cerca de 10% dos doentes sobrevem, como seque-
la do processo amibiano, uma estenose do clon, em certos casos assintomtica, nou-
tros casos provocando sintomas de obstruo parcial ou total, por vezes difcil de dis-
tinguir da neoplasia maligna ou do Crohn. Finalmente, uma outra complicao o
ameboma, o qual pode simular o carcinoma do clon. Trata-se de um processo que
origina diarreia, dores abdominais, anorexia, emagrecimento, debilidade e febre,
podendo aparecer ainda um quadro de obstruo intestinal aguda ou subaguda. Pode
palpar-se uma massa dolorosa algures no abdmen. A radiologia nem sempre conse-
gue distinguir as duas condies, sendo aqui muito teis os exames serolgicos da
amibase. Os amebomas so curveis pela combinao da teraputica amebicida com
antibiticos de largo espectro, devendo ser suspeitados nos doentes com massas
intestinais e que tenham vivido nos trpicos.
Como atrs dissemos, a invaso do sistema porta pela E. histolytica pode culminar no
aparecimento da amibase heptica de que a traduo mais importante o abcesso.
Quando este se forma, surge hepatomeglia dolorosa acompanhada de febre e de mal
estar geral. Se o abcesso est localizado no lobo direito do fgado, a dor localiza-se
no hipocndrio direito, radiando para o dorso e por vezes para o ombro direito. A dor
aumenta aps as refeies ou quando o doente se deita de lado, podendo ser pleu-
rtica. A inflamao das estruturas pulmonares contguas pode originar tosse e hemop-
tises. O quadro clnico ainda integrado por febre em gancho, sudorao, anorexia,
emagrecimento e astenia geral.
Doenas do Aparelho Digestivo
320
No exame fsico, detecta-se aumento de volume do fgado, que doloroso, defenden-
do-se o doente muitas vezes palpao. Um abcesso superficial pode por vezes dar
palpao uma sensao de massa flutuante, ouvindo-se um rudo de frico. Quando
o abcesso se localiza mais superiormente, h elevao do diafragma direito, diminuem
os movimentos torcicos e a intensidade do murmrio vesicular, podendo haver derra-
me pleural direita. No existem sinais clnicos de hepatopatia crnica ou de hiper-
tenso portal; a ictercia ocorre em menos de 10% dos doentes, estando usualmente
relacionada com leses extensas. Os aspectos clnicos do abcesso no lobo esquerdo
do fgado so menos caractersticos, com dor mais difusa e sensibilidade palpatria
abdominal mais generalizada. O fgado pode ser impalpvel.
Nas zonas endmicas, o abcesso amibiano heptico diagnostica-se com base nos
dados clnicos, na leucocitose e Rx do trax, que evidencia elevao do diafragma em
70% dos casos. Pode existir moderada elevao da fosfatase alcalina e da bilirrubina
srica, sendo usualmente normais os restantes testes de explorao heptica.
A resposta ao tratamento amebicida e/ou aspirao do abcesso com evidenciao
do contedo purulento peculiar, confirmam o diagnstico. Os testes serolgicos so
positivos, e a cintigrafia ou a arteriografia hepticas revelam uma leso avascular ocu-
pando espao. A ecografia tambm uma tcnica til, no invasiva, para o estabele-
cimento do diagnstico. A laparoscopia igualmente muito til.
No diagnstico diferencial com outras afeces, coloca-se sobretudo o problema do
abcesso heptico piognico e do carcinoma hepatocelular. No tocante primeira situa-
o, a sintomatologia clnica muito parecida do abcesso amibiano. A
aspirao do abcesso pode ajudar a esclarecer o diagnstico, assim como os testes
serolgicos. Nos casos dbios, justifica-se uma teraputica associada, orientada para
as duas possibilidade. O carcinoma hepatocelular comum nas reas de endemia ami-
biana. Neste processo tumoral, menos frequente a reaco pleuro-pulmonar, a -
fetoprotena costuma elevar-se e o Rx do trax pode revelar metstases. A ecografia,
a angiografia selectiva e a TAC, so exames complementares que habitualmente asse-
guram o diagnstico.
Tratamento da amibase intestinal:
Metronidazole, oral, 750 mgr 3 vezes/dia, durante 10 dias, seguido de erradicao
dos quistos com iodoquinol, 650 mgr, oral, 3 vezes/dia, durante 20 dias, ou dilo-
xanide (50 mgr, oral, 3 vezes/dia, durante 10 dias).
Colite severa: metronidazole i.v., ou paromomicina ou dehidroemetina i.m.
Tratamento do abcesso heptico:
Regime igual ao da colite amebiana severa (metronidazole 750 mgr, 3 vezes/dia,
durante 10 dias), seguido de erradicao dos quistos intestinais com iodoquinol
ou furoato de diloxanide.
A aspirao cirrgica ou percutnea s em abcessos grandes ou na falncia de tera-
putica mdica.
INTESTINO - Parasitoses Intestinais
321
2. NEMTODOS:
ASCARIDASE
A infestao pelo A. lumbricoides encontra-se em todas as reas do globo. A transmis-
so fecal-oral, sendo a infeco contrada por ingesto dos ovos do parasita, que
esto envolvidos por uma capa impermevel resistente. As larvas provenientes dos
ovos ingeridos penetram na parede intestinal e atingem as vias sangunea e linftica,
sendo veiculadas para os pulmes e para o fgado. Aps dois meses de permanncia
nos pulmes, penetram nos alvolos, ascendem pelo tracto respiratrio e so ento
deglutidas. No intestino delgado, transformam-se em parasitas adultos, com 15 a 40
cm de comprimento, vivendo no lume jejunal. Os ovos so excretados nas fezes e,
aps duas a trs semanas em solo hmido, desenvolvem-se dentro deles larvas infes-
tantes. O tempo que medeia entre a infeco e a excreo fecal de ovos, atinge as
doze semanas.
Durante a migrao das larvas atravs do fgado e dos pulmes, o hospedeiro res-
ponde com uma reaco inflamatria eosinoflica. A presena das formas adultas no
jejuno, ou durante a migrao, no ocasiona alteraes patolgicas especficas, a no
ser que haja uma obstruo de vscera oca ou uma infeco piognica secundria.
Durante a migrao das larvas, podem ocorrer alguns sintomas, mais nos visitantes de
zonas endmicas do que nos seus residentes: febre moderada, ligeira hepatomeglia
dolorosa, e quadros de pneumonite ou de asma brnquica, com infiltrados pulmona-
res migratrios que podem ser detectados em radiografias sequncias do trax. As for-
mas adultas de A. lumbricoides originam sintomas abdominais no especficos, com
dores e vmitos, particularmente em crianas, mas a sua presena usualmente assin-
tomtica. A obstruo intestinal por um rolho de parasitas, uma complicao sria
que ocorre sobretudo em crianas. Outras complicaes so a apendicite, a invagina-
o e o volvo, podendo ainda estes vermes induzir quadros de colecistite aguda, colan-
gite supurada e pancreatite, ainda que muito raramente.
O diagnstico feito pela presena de ovos nas fezes, ou de formas adultas nas fezes
ou no vmito. A eosinofilia usual no incio da infestao, mas diminui com a croni-
cidade do processo. O exame radiolgico intestinal pode eventualmente detectar estes
parasitas.
Tratamento da ascaridase:
Pamoato de pirantel, 11 mgr/kg, oral, dose nica
ou
Albendazole, 400 mgr, oral, dose nica.
ou
Mebendazole, 200 mgr, oral, dose nica
Doenas do Aparelho Digestivo
322
ANCILOSTOMASE
A infestao pelo Ancylostoma duodenal muito frequente sobretudo nos trpicos,
no apresentando a maior parte dos doentes contaminados quaisquer sintomas. A
infestao ocorre em todas as idades, sendo mxima na primeira dcada e aps a
quinta. Os parasitas adultos vivem fixados mucosa do intestino delgado superior,
enquanto que os ovos so excretados nas fezes. Destes nascem larvas que rapida-
mente assumem uma configurao filariforme, as quais penetram na pele intacta, e
eventualmente alcanam o intestino aps passagem pelo fgado e pelos pulmes,
semelhana do que acontece com as larvas do A. lumbricides. Uma vez fixados
parede jejunal, os parasitas adultos originam hemorragias e perdas proteicas poden-
do as infestaes macias induzir leses inflamatrias da mucosa, e nalguns casos
atrofia das vilosidades.
A migrao das larvas pode originar uma dermite pruriginosa e sintomas abdominais,
embora menos acentuados do que na ascaridase. A existncia de formas adultas no
jejuno habitualmente assintomtica, podendo no entanto e em certos casos origi-
nar uma anemia ferripriva progressiva, ocasionalmente complicada de Kwashiorkor e
de insuficincia cardaca. O diagnstico efectuado pelo exame de fezes, onde se
podem detectar os ovos do ancylostoma.
Tratamento da ancilostomase:
Mebendazole, 100 mgr, oral, duas vezes/dia, durante 3 dias.
ou
Pamoato de pirantel, oral, 11 mgr/kg, dose nica
ENTEROBASE (Oxiurase)
Trata-se de uma parasitose muito frequente, devida ao Enterobius vermicularis. As for-
mas adultas vivem no cego e no intestino adjacente, sendo o homem o seu nico
reservatrio. A fmea adulta migra noite para o nus e morre aps haver deposita-
do os ovos na rea perianal, dos quais nascem as larvas infectantes que amadurecem
no intestino. A transmisso fecal-oral, podendo a contaminao dos lenis e do
vesturio infestar vrias pessoas.
A principal queixa clnica o prurido anal, mais acentuado noite. A apendicite e o abces-
so isquio-rectal so complicaes rara. O diagnstico feito pela visualizao dos para-
sitas na zona peri-anal ou no recto, ou pesquisando os ovos em esfregaos perianais.
Tratamento da enterobase:
Mebendazole, 100 mgr, oral, em dose nica.
ou
Pamoato de pirantel, oral, 11 mgr/Kg, dose nica.
INTESTINO - Parasitoses Intestinais
323
TRICOCEFALOSE (Tricurase)
O trichuris trichiura parasita o intestino grosso, penetrando a sua extremidade afilada
anterior na mucosa. O homem o nico reservatrio do parasita, sendo a infestao
comum mas frequentemente assintomtica. Os ovos so excretados nas fezes e tor-
nam-se infectantes aps um periodo de incubao em solo adequado. Aps a sua
ingesto, as larvas penetram nas vilosidades intestinais, deixando-as alguns dias aps
para passarem ao clon, onde amadurecem. No local da fixao do parasita, a muco-
sa est inflamada, sendo o grau da leso e do desenvolvimento da doena depen-
dentes da intensidade da infestao. Podem surgir perturbaes abdominais modera-
das ou, sobretudo nas crianas severamente parasitadas, dor abdominal, diarreia e
anemia, e ocasionalmente prolapso rectal, apendicite ou volvo.
Pensa-se que a tricocefalose predispe invaso por amebas e shigellas. O diagns-
tico feito pela observao sigmoidoscpica dos parasitas ou pelo achado de ovos
tpicos nas fezes.
Tratamento da tricocefalose:
Mebendazole, oral, 100 mgr duas vezes/dia, durante 3 dias.
ou
Albendazole, oral, 400 mgr, em dose nica.
ESTRONGILOIDASE
O Strongyloides stercoralis um parasita bastante comum no hospedeiro humano,
infectando-o aps penetrao atravs da pele intacta, posto o que as larvas alcanam
o fgado, os pulmes e outros rgos por via sangunea. Quando expectoradas, pene-
tram no tubo digestivo onde a fmea adulta deposita os ovos, sobretudo na parte
alta do intestino delgado. Deles nascem larvas rabditiformes que so excretadas nas
fezes, no sendo patognicas. Pelo contrrio, larvas filariformes desenvolvem-se no
solo, onde tem lugar um ciclo reprodutivo que culmina no aparecimento das larvas
infestantes. Se as larvas filariformes se desenvolvem no intestino, penetram na muco-
sa e entram na corrente venosa, provocando uma auto-infestao. Este facto prova-
velmente explica a existncia de infestaes ao longo de muitos anos, sem ter havi-
do reinfeco.
A penetrao das larvas na pele e a sua passagem pelos pulmes originam uma der-
mite pruriginosa e sintomas respiratrios, que precedem o quadro clnico intestinal. A
doena localiza-se habitualmente no jejuno e assintomtica, ou origina sintomas
gastrointestinais frustes. Quando a resistncia do hospedeiro se encontra debilitada,
ou se ocorre auto-infestao, pode surgir um envolvimento macio de todo o intesti-
no delgado e mesmo do clon. Nesse caso, surgem dores abdominais, nuseas , diar-
Doenas do Aparelho Digestivo
324
reia e malabsoro, podendo o quadro inflamatrio ser suficientemente severo para
originar ileo paraltico, obstruo intestinal parcial, estenose, ulcerao, perfurao,
peritonite e mesmo septicmia. A invaso das vias biliares ocasiona hepatomeglia,
colecistite e colangite, com ou sem abcesso heptico.
O diagnstico feito pelo achado das larvas rabditiformes nas fezes frescas. Nas
infeces ligeiras, com exames de fezes ocasionalmente negativos, as larvas podem
ser detectadas no suco jejunal ou na bipsia jejunal. frequente o achado de eosi-
nofilia no hemograma.
Tratamento da estrongiloidase:
Tiabendazole, 25 mgr/kg, oral, duas vezes/dia, durante 2 dias
ou
Ivermectin, 200 g/kg/dia, durante 2 dias
ou
Mebendazole, 100 mg, oral, duas vezes/dia, durante 3 dias.
3. CSTODOS:
TENASE
O homem o nico hospedeiro definitivo da Taenia Saginata e da Taenia Solium, para-
sitas responsveis pela tenase dos bovinos e porcinos. A carne inadequadamente
cozinhada a nica fonte da infestao, excepto nalguns casos da T. Solium, nos
quais pode haver transmisso fecal-oral de ovos. As formas adultas fixam-se muco-
sa jejunal, no originando usualmente leso, e absorvem nutrientes atravs da sua
superfcie corporal.
Ocasionalmente podem originar uma obstruo intestinal e doena pancretico-biliar,
podendo ainda teoricamente agravar a m nutrio.
Os indivduos parasitados so usualmente assintomticos e o diagnstico feito
quando segmentos maduros (progltides) se escapam atravs do nus, ou quando se
encontram os respectivos ovos nos exames rotineiros das fezes.
Tratamento da tenase:
Niclosamida, 2 gr, oral, dose nica
ou
Praziquantel, 25 mgr/kg, oral, dose nica
ou
Albendazole, 400 mg, oral, por dia, durante 3 dias.
INTESTINO - Parasitoses Intestinais
325
QUISTO HIDTICO
O homem pode ser o hospedeiro intermedirio acidental da Taenia echinococcus, cujo
estdio larvar causa a doena hidtica resultante da compresso (E. Granulosus) ou
da infiltrao (E. Multilocularis) dos tecidos afectados. O E. Granulosus o parasita
mais frequente.
A doena tem aumentado de frequncia em todo o mundo, nos homens e nos ani-
mais. Os parasitas adultos infestam o intestino dos carnvoros, designadamente dos
ces. Uma variedade de herbvoros (E. Granulosus) e de pequenos roedores (E. mul-
tilocularis), servem de hospedeiros intermedirios, sendo contaminados pela ingesto
de ovos. As larvas destes, penetram na circulao portal e distribuem-se pelo fgado,
pulmes e outros rgos, onde se transformam em quistos infectantes. O ciclo de
vida completa-se quando esse quisto ingerido por determinados hospedeiros carn-
voros. O homem usualmente infectado pelos ovos excretados pelo co.
Os quistos do E. Granulosus podem ser simples ou mltiplos, sendo bem delimitados
dos tecidos vizinhos, que se encontram comprimidos. Os quistos do E. multilocularis
so sempre mltiplos, invadindo e destruindo os tecidos circundantes. Quistos metas-
tsicos so a consequncia da invaso sangunea. O crescimento do quisto lento,
sendo de cerca de 0.25 a 1 cm por ano. Cada quisto constitudo por uma tnica ger-
minativa interna rodeada de uma capa laminada elstica segregada pelo quisto, e de
uma cpsula fibrosa exterior, derivada do hospedeiro. A partir da tnica germinativa
desenvolvem-se novos quistos, vivendo alguns de forma livre dentro do quisto prin-
cipal. O material hidtico consiste em vesculas prolgeras, cabeas de equinococos e
quistos filhos.
Os quistos hepticos so usualmente simples e rodeados de uma cpsula fibrosa acin-
zentada. Pode acontecer a sua infeco secundria por bactrias ou a rotura na cavi-
dade peritoneal, com proliferao de novos quistos. A disseminao pode ainda ocor-
rer atravs da rotura dos quistos para a vescula biliar, o espao pleural ou a veia
heptica.
Cerca de 80% dos quistos hidticos ocorrem no fgado ou nos pulmes. No caso do
quisto heptico, o incio dos sintomas insidioso, observando-se uma certa disten-
so abdominal ou dor na rea heptica, acompanhadas de sintomas sistmicos. A
infeco bacteriana do quisto causa um quadro mais aparatoso, com sintomas infec-
ciosos sem toxmia, dada a proteco conferida pela cpsula espessa do quisto. A
ictercia rara, resultante usualmente de obstruo biliar. A compresso ou invaso
da veia porta pode originar um quadro de hipertenso portal. Sintomas de febre, urti-
cria, asma ou anafilaxia podem ocorrer espontaneamente, ou aps a puno do quis-
to. Na doena no complicada, o principal sinal fsico o aumento de volume do fga-
do, de contornos lisos e no doloroso. O estado geral do doente bom
Doenas do Aparelho Digestivo
326
No tocante ao diagnstico, existem actualmente numerosos testes imunolgicos, mas
nenhum inteiramente satisfatrio, havendo variaes nos resultados com o tipo de
parasita infectante e com a localizao do quisto. O teste imunoelectrofortico o
mais especfico e sensvel. A reaco intradrmica de Casoni sensvel mas no
especfica. Alm destes testes, deve solicitar-se o estudo radiolgico simples da rea
heptica, o qual pode evidenciar calcificaes dentro do quisto e, eventualmente, ele-
vao do diafragma. Outras investigaes que se propem com finalidades de diag-
nstico, so a ecografia, a cintigrafia heptica, a laparoscopia, a arteriografia e a
tomografia computorizada. Deve evitar-se a puno do quisto, pois pode ser extrema-
mente perigosa.
Tratamento do quisto hidtico:
Cirurgia + albendazole, 400 mgr, oral, duas vezes/dia, durante 28 dias (repetir se
necessrio).
4. TREMTODOS:
ESQUISTOSSOMASE (Bilharzase)
Trata-se de um grupo de doenas causadas por tremtodos da famlia
Schistosomatidae, muito frequentes nas reas rurais dos trpicos. O quadro patolgi-
co depende do tipo de parasita, predominando as manifestaes gastrointestinais e
hepticas nas infestaes pelos S. Mansoni e S. Japonicum, e as alteraes renais na
infeco pelo S. Haematobium. Vamos descrever to somente a doena gastrointesti-
nal e heptica.
A transmisso exige uma fonte de infeco, constituda pela contaminao fecal de
guas contendo certos moluscos, os hospedeiros intermedirios, e contacto do homem
com a gua infestada. O homem o principal reservatrio da infeco, embora os ani-
mais domsticos possam tambm albergar o S. Japonicum. Os ovos so excretados nas
fezes e ao alcanarem a gua libertam um miracdio ciliado que se movimenta livre-
mente, podendo penetrar no hospedeiro intermedirio. Aps a reproduo, desenvol-
vem-se numerosas cercrias que deixam o molusco e so capazes de penetrar atravs
da pele intacta do homem e de outros mamferos. As cercrias transformam-se em
esquistossomas imaturos, logo aps a entrada no organismo, os quais migram atravs
da circulao sangunea e linftica para os pulmes, e finalmente para a circulao sis-
tmica. Os que alcanam o sistema venoso portal, desenvolvem-se e transformam-se
nas formas adultas. O macho e a fmea, que vive no canal ginecforo deste, migram
contra a corrente sangunea at atingirem as veias mesentricas, onde ocorre a postu-
ra de ovos. Alguns destes ovos, contendo um miracdio, excretam um enzima e so
expedidos atravs da mucosa para o lume intestinal. Todas as idades so susceptveis
INTESTINO - Parasitoses Intestinais
327
infeco, dependendo a severidade desta, da intensidade da exposio e da respos-
ta imunolgica do hospedeiro. As formas adultas do parasita podem sobreviver duran-
te um perodo prolongado, apesar da presena de anticorpos, provavelmente porque
dispem de uma capa protectora de antignios.
A doena devida aos ovos vivos ou mortos que se fixam na parede intestinal ou so
veiculados por via sangunea para outros rgos particularmente para o fgado, onde
despertam uma reaco celular seguida de fibrose. Existem diferenas nas leses
patolgicas atribudas ao S. Mansoni, nos vrios pases, facto que pode ser devido
existncia de vrias estirpes do parasita e a factores ambientais e do hospedeiro.
A doena intestinal restringe-se usualmente ao intestino grosso, onde a reaco tis-
sular eosinfila inicial seguida de hiperplasia epitelial. Podem aparecer na superf-
cie da mucosa pseudotuberculos e plipos, no apresentando estes risco de maligni-
zao. A extenso do processo inflamatrio serosa pode originar um quadro de peri-
tonite focal, aderncias ou massas inflamatrias. Estenose fibrtica, obstruo intes-
tinal , invaginao, prolapso rectal e apendicite, so eventuais consequncias da
esquistossomase intestinal. O mesentrio pode espessar-se e conter granulomas,
podendo a doena envolver os gnglios mesentricos e os tecidos retroperitoneais.
A severidade do envolvimento heptico depende do nmero de ovos que alcanaram o
fgado e de outros factores, designadamente das defesas imunitrias do hospedeiro, do
estado nutricional, de doenas intercorrentes e do tipo de parasita infestante. Os ovos
fixados nos ramos terminais da veia porta induzem uma reaco granulomatosa seguida
de fibrose. Macroscopicamente, as dimenses do fgado so variveis e a sua superfcie
pode apresentar-se lobulada. Microscopicamente, as leses so predominantemente peri-
portais, induzindo o aperto e a ocluso dos pequenos ramos da veia porta um quadro
de hipertenso portal. No estdio final de doena severa, a superfcie do corte heptico
evidencia a existncia de reas de fibrose, largas e de configurao oval ou estrelada,
atravs do parnquima intermedirio. No existe evidncia de que a esquistossomase se
transforme em cirrose ou em carcinoma hepatocelular. A hipertenso portal, de tipo pre-
sinusoidal, estimula o desenvolvimento de uma rede venosa colateral e de esplenome-
glia. As colaterais porto-sistmicas predispem para o envolvimento dos pulmes no
processo, com consequente hipertenso pulmonar. No existe nenhum rgo que consi-
ga escapar a este tipo de parasitose, a qual pode afectar a vescula biliar e o pncreas,
assim como outras estruturas fora da cavidade abdominal.
S os indivduos com infestaes macias desenvolvem o quadro clnico da doena.
Durante a migrao e a maturao do esquistossoma, o organismo infectado pode
apresentar uma dermite transitria, seguida de febre, urticria, bronquite e hepatoes-
plenomeglia. Nesta fase, acentuada a eosinoflia sangunea, no se observam ovos
nas fezes, o teste cutneo negativo, mas os testes serolgicos podem ser positivos.
Este quadro clnico segue-se usualmente a uma invaso macia por cercrias, sem pr-
Doenas do Aparelho Digestivo
328
vio contgio, cedendo habitualmente, de forma espontnea, dentro de trs semanas.
Na doena estabelecida, podem no existir sintomas. Noutros casos, o doente apre-
senta queixas clnicas, traduzidas em mal estar geral, anorexia, perda de peso, dores
abdominais difusas e sintomas disentricos. O exame fsico pode ser normal, mas nos
casos severos existem alguns sinais, designadamente palidez devida anemia, m
nutrio, edema ou hepatoesplenomeglia. A salmonelose crnica associa-se por
vezes esquistossomase, no podendo ser erradicada sem o prvio tratamento da
ltima. Na esquistossomase heptica pode tambm observar-se um quadro de glo-
merulonefrite, provavelmente resultante da deposio de imunocomplexos na mem-
brana glomerular. Sugere-se ainda uma associao entre a agresso heptica e a ami-
loidose renal.
Os doentes com afeco heptica significativa apresentam usualmente hepatalgias ou
hemorragias por rotura de varizes esofgicas, raramente complicadas de encefalopa-
tia. Pode ocorrer insuficincia heptica, sobretudo com o S. Japonicum. O fgado varia
nas suas dimenses, no estando usualmente muito aumentado, apresentando uma
superfcie por vezes nodular. Podem detectar-se sinais clnicos de hipertenso portal
. A hipoproteinmia induz a formao de edemas e contribui para o aparecimento de
ascite.
O diagnstico baseia-se no achado de ovos nas fezes, ou em bipsias rectais e hep-
ticas. A postura de ovos contnua, excepto durante os primeiros trs meses da infes-
tao e nas doenas muito prolongadas, onde o diagnstico difcil, dependente de
testes serolgicos e do exame histolgico. Nas infestaes macias, o exame micros-
cpico das fezes revela a existncia dos ovos tpicos, mas nas infestaes mais ligei-
ras so eventualmente necessrios mtodos de concentrao e repetio desse exame.
A mucosa rectal, colhida entre as valvas do recto e examinada em microscopia, revela-
se extremamente til na visualizao dos ovos. O teste cutneo, que depende de uma
reaco de hipersensibilidade imediata, possui baixa especificidade, dando falsos posi-
tivos, embora poucos falsos negativos, sendo usado somente como teste de rastreio.
Outras anlises tm sido propostas, designadamente o teste de fixao do complemen-
to, a hemaglutinao indirecta, a imunofluorescncia e testes de floculao, mas
nenhum suficientemente vlido para substituir a pesquisa directa do parasita. A bi-
psia heptica no tambm muito segura, dado que as leses so focais.
Tratamento da esquistossomase:
Praziquantel, 20 mgr/kg, oral, 3 vezes/dia. Tratamento de 1 dia.
ou
Oxamniquina, 15 mgr/kg, oral, dose nica (exclusivamente para o S. mansoni).
INTESTINO - Parasitoses Intestinais
329
Doenas do Aparelho Digestivo
330
REFERNCIAS
Grove D.I. Parasitic infections. In: Ratnaike RN (Ed.). Small Bowel Disorders. Arnold 2000: 341-355
Fedorak RN. Protozoal diarrhea. In: Field M (Ed). Diarrheal Diseases. Elsevier 1991: 319-354.
Cross JH. Parasites of the small intestine. In: Surawicz C, Owen RL (Eds). Gastrointestinal and hepatic infections.
W.B. Saunders Co. 1995: 177-208.
Waltzer PD. Treatment of parasitic diaseases of the small intestine and colon. In: Wolfe MM (Ed). Therapy of Digestive Disorders.
W.B. Saunders Co. 2000: 523-532.
Freitas D. Infeces e parasitoses intestinais. In: Freitas D (Ed). Temas de Gastrenterologia (1 vol), 1985: 147-188.
Katz DE, Taylor DN. Parasitic infections of the gastrointestinal tract. Gastrointest Clin N Am 2001; 30 (3): 797-816.
Owen RL. Parasitic Diseases. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds). Sleisenger & Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease,
W.B. Saunders Co 1998: 1648-1678.
Adam RD. Biology of Giardia lamblia. Clin Microbiol Rev. 2001 Jul;14(3):447-75.
Okhuysen PC. Travelers diarrhea due to intestinal protozoa. Clin Infect Dis. 2001 Jul 1;33(1):110-4.
Espinosa-Cantellano M, Martinez-Palomo A. Pathogenesis of intestinal amebiasis: from molecules to disease.
Clin Microbiol Rev. 2000 Apr;13(2):318-31.
Gardner TB, Hill DR. Treatment of giardiasis. Clin Microbiol Rev. 2001 Jan;14(1):114-28.
Thompson RC. Giardiasis as a re-emerging infectious disease and its zoonotic potential. Int J Parasitol. 2000 Nov;30(12-13):1259-67.
Zaha O, Hirata T, Kinjo F, Saito A. Strongyloidiasisprogress in diagnosis and treatment. Intern Med. 2000 Sep;39(9):695-700.
Guyatt H. Do intestinal nematodes affect productivity in adulthood? Parasitol Today. 2000 Apr;16(4):153-8.
Faubert G. Immune response to Giardia duodenalis. Clin Microbiol Rev. 2000 Jan;13(1):35-54.
Alvar J, Roche J, Sarrion A, Ramos MC, Benito A. Treatment of intestinal diseases caused by protozoa and coccidia.
Rev Esp Quimioter. 1999 Jun;12(2):120-5.
Garcia LS. Flagellates and ciliates. Clin Lab Med. 1999 Sep;19(3):621-38.
Leber AL. Intestinal amebae. Clin Lab Med. 1999 Sep;19(3):601-19.
Farthing MJ. Gut infections. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Jan;11(1):17-20.
Vesy CJ, Peterson WL. Review article: the management of Giardiasis. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Jul;13(7):843-50.
Sammak B, Youssef B, Mohamed AR, Abdel Bagi M, al Shahed M, Gahandour Z, al Karawi M. Radiological manifestations of liver and gas-
trointestinal parasitic infections. Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr; 46(26):1016-22.
Al Samman M, Haque S, Long JD. Strongyloidiasis colitis: a case report and review of the literature.
J Clin Gastroenterol. 1999 Jan;28(1):77-80
INTESTINO - Isqumia Intestinal
331
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XV
ISQUMIA INTESTINAL
1. Sndromes Isqumicas do Intestino Delgado
2. Colite Isqumica
331
Doenas do Aparelho Digestivo
A isqumia intestinal produz um amplo espectro de leses. A isqumia do clon a forma
mais comum de isqumia intestinal, sendo duas vezes mais frequente do que as sndro-
mas de isqumia mesentrica aguda. Estas envolvem o segmento intestinal irrigado pela
artria mesentrica superior e seus ramos. As causas arteriais da isqumia mesentrica
aguda so mais frequentes do que as causas venosas, e a embolizao mais frequen-
te do que a trombose. Habitualmente os doentes com isqumia mesentrica aguda apre-
sentam-se mais seriamente afectados do que os que padecem de colite isqumica, e tm
uma elevada taxa de mortalidade. Pelo contrrio, os doentes com colite isqumica so
observados usualmente aps a fase de isqumia, as suas queixas so geralmente mode-
radas, os achados fsicos so discretos e a mortalidade baixa.
1. SINDROMES ISQUMICAS DO INTESTINO DELGADO
As sindromes isqumicas do intestino delgado podem ser agudas ou crnicas:
A. ISQUMIA MESENTRICA AGUDA (IMA)
A incidncia de IMA aumentou nos ltimos trinta anos, circunstncia atribuda ao
aumento na idade mdia da populao, com consequente incremento em doenas car-
dio-vasculares, degenerativas ou sistmicas. Os principais factores de risco da IMA
so:
- Doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos
- Idade > 50 anos.
- Insuficincia cardaca congestiva.
- Arritmia cardaca.
- Teraputica com digoxina.
- Enfarte miocrdico recente.
- Hipovolmia.
- Sepsis.
- Histria de doena vascular perifrica severa.
A IMA compreende cerca de um tero de todos os episdios de isqumia intestinal,
mas responsvel pela maioria das mortes relacionadas com a isqumia. No passa-
do, a causa mais frequente de IMA era a isqumia mesentrica no oclusiva, conse-
quncia da vaso-constrio. Actualmente a embolizao a causa mais frequente. A
diminuio na incidncia da isqumia no oclusiva tem a ver com a melhoria de cui-
dados no mbito da monitorizao e da rpida correco dos dfices de volume, do
choque, da hemorragia e das arritmias em doentes internados em Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI).
No tocante etiologia, a IMA pode ser induzida pelas seguintes causas:
1. FORMAS ARTERIAIS DE IMA
INTESTINO - Isqumia Intestinal
333
Embolizao da artria mesentrica superior
Isqumia mesentrica no oclusiva
Trombose da artria mesentrica superior
2. TROMBOSE MESENTRICA VENOSA
3. ISQUMIA FOCAL SEGMENTAR
1. Formas Arteriais de IMA
Na embolia da artria mesentrica superior, os embolos advm usualmente de um
trombo mural auricular ou ventricular. Em cerca de 20% dos doentes ocorrem fenme-
nos de embolizao noutras artrias.
A isqumia mesentrica no oclusiva resulta de vasoconstrio esplncnica devida a
um evento cardiovascular prvio, por exemplo, enfarte agudo do miocrdio, insuficin-
cia cardaca congestiva, arritmia ou choque. Noutros casos est em causa uma insufi-
cincia renal crnica com hemodilise, ou uma interveno cirrgica importante, car-
daca ou abdominal.
A trombose da artria mesentrica superior ocorre em zonas de estenose arterioscle-
rtica, frequentemente na origem desta artria. Frequentemente, o episdio agudo
enxertou-se num contexto de isqumia mesentrica crnica, apurando-se em 20-50%
dos doentes numa histria de angina intestinal. Tambm frequente uma histria pr-
via de isqumia coronria, cerebral ou arterial perifrica.
Clnica
A identificao precoce da IMA demanda um elevado ndice de suspeio. A ecloso
da dor abdominal aguda num doente com cardiopatia, arritmia, insuficincia cardaca
congestiva mal controlada, enfarte recente do miocrdio ou hipotenso, deve sugerir
a possibilidade de IMA. Uma histria de dor abdominal ps-prandial nas semanas ou
meses que precederam o incio de dor abdominal severa, associa-se a uma situao
de trombose da mesentrica superior.
Na fase inicial da IMA, a dor abdominal aguda no tem correspondncia no exame
fsico do doente. De facto, apesar de uma dor abdominal severa, o abdmen depres-
svel e indolor neste estdio inicial do processo. Nos casos de IMA no obstrutiva,
pode no ocorrer dor, queixando-se o doente unicamente de distenso abdominal,
usualmente com sinais de hemorragia digestiva.
Se no exame fsico surgem sinais de hiperestesia abdominal, dor de ressalto e defe-
sa muscular, deve existir um quadro de enfarte intestinal.
No existem sinais laboratoriais especficos de IMA. Cerca de 75% dos doentes apre-
sentam leucocitose acima de 15.000 clulas/mm3 na admisso hospitalar, e cerca de
Doenas do Aparelho Digestivo
334
50% apresentam acidose metablica, reflectindo um grau avanado de isqumia. Tm
sido descritas elevaes sricas dos fosfatos, amilase, LDH, CPK e fosfatase alcalina,
mas ainda so desconhecidas a sensibilidade e a especificidade destes marcadores
na isqumia intestinal. Se estas anlises de rotina no facultam informao significa-
tiva, desenvolveram-se recentemente algumas anlises especiais, com bastante inte-
resse no estudo da IMA:
Isoenzima CPK (creatinina fosfoquinase)-BB. Um valor > 20 ng/ml pode ser til no
diagnstico de enfarte intestinal.
D (-) lactato, um estereoismero do L (+)- lactato dos mamferos, que se encon-
tra significativamente elevado na isqumia mesentrica. Para valores de D-lactato
> 20 g/ml, a sensibilidade para a isqumia mesentrica de 90% e a especifici-
dade de 87%.
I-FABP (intestinal fatty acid-binding protein), que se encontra elevado no enfarte
mesentrico. Valores deste marcador superior a 100 ng/ml implicam enfarte mesen-
trico.
O diagnstico e o tratamento destas formas de IMA deve ter em considerao os
seguintes aspectos: a) se o diagnstico no feito antes de surgir um enfarte intes-
tinal, a mortalidade atinge os 70-90%; b) o diagnstico das formas oclusiva e no
oclusiva pode ser efectuado usualmente por angiografia; c) a vasoconstrio, que
pode persistir aps a correco da causa da isqumia, constitui a base das formas
no oclusivas de IMA; d) a vasocontrio pode ser eliminada mediante a infuso de
vasodilatadores na artria mesentrica superior. A utilizao precoce e liberal da
angiografia, com incorporao intra-arterial de papaverina, uma medida chave no
diagnstico e tratamento das formas oclusivas e no oclusivas de IMA.
O tratamento inicial da IMA visa corrigir as causas precipitantes. O tratamento da insu-
ficincia cardaca congestiva, a estabilizao da arritmia cardaca e a correco de defi-
cincias hemodinmicas, so medidas que devem preceder os estudos imagiolgicos
de diagnstico. Os doentes em choque no devem ser submetidos a estudos angio-
grficos, nem a tratamento com vasodilatadores intra-arteriais. A descompresso gas-
trointestinal e a prescrio de antibioterpia parenteral devem integrar a preparao
para estudos radiolgicos, designadamente angiogrficos.
Aps ressuscitao do doente, deve obter-se um exame radiolgico simples do abd-
men para excluir outras causas de dor abdominal, designadamente perfurao de vs-
cera ou obstruo intestinal.
Se este exame normal, deve realizar-se um estudo angiogrfico, com infuso de
papaverina num ritmo de 30-60 mgr/hora. Esta metodologia pode originar algumas
complicaes: necrose tubular aguda transitria, em cerca de 6% dos casos, e embo-
lizao (em menos de 1%).
INTESTINO - Isqumia Intestinal
335
A interveno cirrgica na IMA visa restaurar o fluxo arterial(no caso de embolizao
ou trombose) e ressecar o segmento intestinal irremediavelmente lesado.
A utilizao de anticoagulantes no tratamento da IMA controverso. A heparina pode
induzir hemorragia intestinal ou intraperitoneal e, exceptuado o caso de trombose
venosa mesentrica, provavelmente no deveria ser utilizada no perodo ps-operat-
rio imediato. Como a trombose pode ocorrer mais tarde, aps embolectomia ou
reconstruo arterial, sero aconselhados anticoagulantes 48 horas aps a interven-
o cirrgica. A sobrevida mdia destes processo de IMA ronda os 55%. A sobrevida
geralmente mais elevada nos processo de IMA no oclusiva, eficazmente tratados
por via angiogrfica, sem recurso a sano cirrgica.
2. Trombose Venosa Mesentrica (TVM)
A TVM uma forma de isqumia intestinal crescentemente diagnosticada, sobretudo
com o advento da ecografia, TAC e Ressonncia magntica. Cerca de 5-10% dos doen-
tes com IMA tm TVM.
H poucos anos atrs, s era possvel identificar a causa da TVM em menos de 50%
dos doentes. Actualmente, com a identificao da antitrombina III, das deficincias em
protenas C e S, e dos estados de hipercoagulao associados policitemia vera e s
afeces mieloproliferativas, possvel descortinar a causa da TVM em mais de 80%
dos casos. A utilizao de contraceptivos orais causa de 4-9% das situaes de TVM.
A TVM pode ter um incio agudo, subagudo ou crnico. Em cerca de 60% dos casos
h uma histria de trombose venosa perifrica.
TVM AGUDA
A dor abdominal acontece em mais de 90% dos doentes, no existindo correlao
entre a dor e a existncia de sinais fsicos. A durao da dor antes do internamento
usualmente de 1-2 semanas, mas pode estender-se at 1 ms. Em mais de 50% dos
doentes ocorrem nuseas, vmitos e sangue oculto nas fezes. Em 15% dos casos
surge uma hemorragia gastrointestinal grave, testemunho de enfarte intestinal. Os
achados fsicos mais comuns so: hipersensibilidade abdominal, diminuio dos ru-
dos hidro-areos e distenso do abdmen. Se ocorre enfarte intestinal, existe defesa
e resistncia da parede abdominal.
Na suspeita de TVM aguda, vrios estudos tm sido recomendados: Rx simples do
abdmen, Rx do intestino delgado e arteriografia mesentrica selectiva. Esta pode
estabelecer um diagnstico definitivo antes do desenvolvimento de um enfarte intes-
tinal, e pode propiciar o acesso a vasodilatadores , em caso de necessidade.
Doenas do Aparelho Digestivo
336
No entanto, actualmente prefere-se, como exame prioritrio, a realizao de tomogra-
fia computorizada (TC), que propicia um diagnstico correcto em mais de 90% dos
casos. A TC deve preceder o estudo angiogrfico, na opinio de muitos peritos.
TVM SUB-AGUDA
Utiliza-se esta designao nos casos em que ocorre dor abdominal durante semanas
ou meses, mas sem enfarte intestinal. O diagnstico usualmente feito em estudos
imagiolgicos (designadamente a TC), realizados por outras suspeitas clnicas.
TVM CRNICA
Esta designao aplica-se a doentes sem sintomas quando ocorre a trombose, ou
desenvolvem quadros de hemorragia digestiva usualmente por varizes esofgicas. Se
a veia porta est envolvida, identificam-se sinais de hipertenso portal. Os estudos
laboratoriais podem revelar sinais de hiperesplenismo secundrio, com pancitopenia
ou trombocitopenia.
Nas formas agudas de TVM, sem sinais fsicos de enfarte intestinal, recomenda-se ini-
ciar tratamento com heparina ou teraputica tromboltica. Se se desenvolvem sinais
peritoneais, a interveno cirrgica obrigatria, com resseco do segmento intesti-
nal invivel e heparinizao. A mortalidade nestas formas agudas mais baixa do que
nas outras formas de IMA, variando entre 20-50%.
Nas formas crnicas de TVM o tratamento visa controlar as hemorragias, usualmente
provenientes de varizes esofgicas. As formas crnicas assintomticas no requerem
tratamento.
3. Isqumia Segmentar Focal (ISF)
As causas de ISF incluem embolos ateromatosos, hrnia estrangulada, vasculite, trau-
ma abdominal, radiaes e contraceptivos orais.
Nestas formas de isqumia existe usualmente circulao colateral adequada para pre-
venir o enfarte transmural. A apresentao clnica assume usualmente um dos seguin-
tes padres: enterite aguda, enterite crnica ou obstruo. No padro agudo, a dor
abdominal simula frequentemente uma apendicite aguda. O padro crnico pode con-
fundir-se com a doena de Crohn. A apresentao clnica mais comum a de uma obs-
truo crnica do intestino delgado, com proliferao bacteriana na ansa dilatada a
montante da obstruo.
O tratamento da ISF cirrgico, com resseco do segmento intestinal envolvido.
No quadro seguinte esquematiza-se a abordagem da Isqumia Mesentrica Aguda
(IMA):
INTESTINO - Isqumia Intestinal
337
A abordagem da isqumia mesentrica aguda no oclusiva, encontra-se esquematiza-
da no grfico seguinte:
Doenas do Aparelho Digestivo
338
EXAME ABDOMINAL
ABORDAGEM DA ISQUMIA MESENTRICA AGUDA
SEM SINAIS PERITONEAIS
SINAIS PERITONEAIS
ISQUMIA NO OCLUSIVA
(VER GRFICO SEGUINTE)
IDENTIFICAR CONTEXTO CLINICO
E REALIZAR ANGIOGRAFIA
(diagnstico e teraputica)
CIRURGIA
URGENTE
EMBOLISMO
TROMBOSE
OCLUSO
ARTERIAL
TROMBOSE VENOSA
MESENTRICA
(VER GRFICO SEGUINTE)
A. Suspeita clnica
Angiografia
ABORDAGEM DA ISQUMIA MESENTRICA AGUDA NO OCLUSIVA
B. Isqumia disseminada em placas,
achado na laparotomia
A. Confirma diagnstico
A.+B. Papaverina intra-arterial
Repetir Angiografia
Melhoria clnica
Peritonite
Persistente
ou
Deteriorao
A. Considerar Laparotomia
B. Second Look Mandatrio
A. Laparotomia Urgente
B. Relaparotomia Urgente
Finalmente, apresenta-se no grfico que segue um algoritmo de abordagem da trom-
bose venosa mesentrica:
ABORDAGEM DA TROMBOSE VENOSA MESENTRICA (TVM)
Sinais perotoneais
Resoluo
Considerar
manuteno com
warfarina
Suspeita clnica
ou angiogrfica
de TVM
TVM diagnosticada
no acto cirrgico
Resseco do
segmento necrosado
Heparina I.V.
Second Look
mandatrio
Sem sinais perotoneais
TAC: Confirma diagnstico
Heparina I.V.
Vigilncia apertada
Considerar
relaparotomia
INTESTINO - Isqumia Intestinal
339
B. ISQUMIA MESENTRICA CRNICA (IMC)
A IMC, ou angina intestinal, uma entidade rara, englobando menos de 5% de todas
as doenas isqumicas intestinais. quase sempre causada por aterosclerose mesen-
trica. A dor da IMC tem sido atribuida a insuficiente fluxo sanguneo para satisfazer
as necessidades ps-prandiais acrescidas pelas actividades secretora, motriz e de
absoro.
O sintoma cardinal da IMC o desconforto ou dor abdominal que ocorre dentro de
30 minutos aps a refeio, aumentando gradualmente de intensidade, e amortecen-
do lentamente ao cabo de 1-3 horas. A dor usualmente espstica, mas pode ser
constante e difusa. Frequentemente ocorre averso pelos alimentos, o doente reduz
o volume da refeio, de que resulta a small-meal sindrome. Em cerca de metade
dos doentes h sinais de m absoro, e poder acorrer outros sintomas: nusea,
enfartamento, diarreia ou obstipao. Nas fases avanadas o doente pode encontrar-
se muito emagrecido. No se detectam outros sinais fsicos significativos.
O diagnstico difcil em face da natureza vaga das queixas e da ausncia de um
teste especfico de diagnstico. Os estudos baritados so normais ou evidenciam
sinais de dismotilidade ou de m absoro. Os estudos ecogrficos com Doppler e a
tomografia computorizada so inespecficos. A angiografia pode evidenciar ocluso de
duas ou mais artrias esplncnicas, possibilitando o diagnstico de IMC. No entanto,
podem ser detectadas essas ocluses em doentes sem os sintomas tpicos desta
isqumia crnica.
O doente com dor tpica de angina abdominal e perda de peso inexplicvel, onde a
avaliao diagnstica excluiu outras patologias gastrointestinais e com evidncia, no
angiograma, de ocluso de duas ou trs artrias principais, deve ser submetido a uma
interveno de revascularizao, mediante a utilizao de uma das vrias tcnicas
angiogrficas ou cirrgicas actualmente disponveis.
2. COLITE ISQUMICA
Embora a colite isqumica seja a doena vascular mais comum do tracto gastrointes-
tinal, constitui uma diminuta percentagem, talvez 1-2%, dos doentes com patologia
do clon internados nas enfermarias de medicina e cirurgia. No entanto, o seu diag-
nstico nem sempre objectivado, pelo que a sua incidncia estar subvalorizada.
Cerca de 60-70% dos episdios de colite isqumica so transitrios e reversveis, em
contraste com a elevada mortalidade da isqumia do intestino delgado. Na maioria
dos casos, a colite isqumica um evento nico. S 5% dos doentes experimentam
Doenas do Aparelho Digestivo
340
episdios recorrentes.
A histria natural da colite isqumica pode esquematizar-se da seguinte forma:
A colite isqumica usualmente segmentar, envolvendo mais frequentemente a zona
da flexura esplnica e a juno entre o recto e a sigmide. No entanto, qualquer rea
do clon pode ser atingida. O recto usualmente poupado dado a riqueza da sua cir-
culao colateral.
A colite isqumica motivada por hipoperfuso do clon, consequncia de obstruo
vascular ou de baixo dbito. Na zona da flexura esplnica existe habitualmente uma
comunicao precria entre as artrias mesentricas superior e inferior, dado que no
existe a artria de Drummond, ou est pouco desenvolvida nesta rea. interessan-
te sublinhar, por outro lado, que o clon um rgo particularmente predisposto
isqumia porque recebe menos fluxo sanguneo por 100 gr de tecido do que qualquer
outro sector do tracto gastrointestinal.
So considerados factores de risco major da colite isqumica:
- Idade > 60 anos
- Teraputica com digoxina
- Doena cardaca
- Insuficincia renal
- Doena vascular perifrica
- Sepsis
- Diabetes mellitus
- Carcinoma do clon
- Cirurgia reconstrutiva da aorta
So considerados factores etiolgicos da colite isqumica:
Dano Irreversvel Dano Reversvel
Colite ulcerosa
segmentar
Hemorragia
submucosa ou
intramural
Cura clnica
e radiolgica
Gangrena
ou
perfurao
Colite
ulcerosa
segmentar
Colite
fulminante
universal
Estenose
COLITE ISQUMICA
INTESTINO - Isqumia Intestinal
341
A apresentao clnica da colite isqumica depende do grau e da durao da obstru-
Doenas do Aparelho Digestivo
342
IDIOPTICO MEDICAO
CHOQUE - Preparados digitlicos
OCLUSO VASCULAR - Diurticos
- Trauma - Catecolaminas
- Trombose/embolia de artrias mesentrica - Estrognios
- Trombose venosa mesentrica - Danazol
DOENAS DO INTESTINO DELGADO - AINES
- Diabetes mellitus - Neurolticos
- Artrite reumatide OBSTRUO DO CLON
- Amiloidose DOENAS HEMATOLGICAS
- Radiaes ABUSO DE COCAINA
- Vaculites sistmicas
o vascular. Nos doentes de tipo I, com formas transitrias benignas, ocorrem dores
ligeiras na quadrante inferior esquerdo com diarreia sanguinolenta. A hemorragia
usualmente de pequena intensidade, no exigindo transfuses. Por vezes, existe urgn-
cia na defecao, assim como nuseas e vmitos. O exame fsico revela hipersensibili-
dade dolorosa na rea do segmento intestinal afectado. usual existir febre, de peque-
no grau. Nos doentes com colite isqumica de tipo II, felizmente bem menos frequen-
tes, surgem sinais e sintomas de abdmen agudo com dor abdominal severa e defesa
muscular. a forma dita gangrenosa, que exige cirurgia urgente.
O diagnstico diferencial da colite isqumica deve fazer-se com as seguintes situa-
es:
Colite ulcerosa
Isqumia do delgado
Doena de Crohn
Trombose venosa mesentrica
Colite pseudomembranosa
Volvo da sigmide
Diverticulite
Obstruo do clon
Hemorragia por diverticulose
Pancreatite
Colite infecciosa
Carcinoma do clon
O diagnstico da colite isqumica baseia-se na clnica e nos seguintes estudos:
COLONOSCOPIA COM BIPSIAS
o mtodo ideal para o diagnstico, devendo realizar-se dentro das primeiras 48
horas de apresentao do doente. A insuflao deve ser mnima para no agravar
o dfice do fluxo sanguneo. Se h suspeita de perfurao ou enfarte, a colonos-
copia est contra-indicada. Os achados endoscpicos dependem do timing da
observao. As leses mais precoces consistem em hipermia da mucosa e ulcera-
es punctiformes em reas de mucosa edemaciada. Sinais endoscpicos de
hemorragia, ulcerao e friabilidade tambm podem ser detectados, mimetizando
quadros de colite ulcerosa. No entanto, na reviso endoscpica ulterior verifica-se
que a colite tem uma expresso segmentar.
As bipsias endoscpicas revelam hemorragia da submucosa e edema. A evidn-
cia histolgica de enfarte da mucosa (ghost cells), embora rara, patognomni-
ca de isqumia. Mais frequentemente observa-se congesto vascular. H frequen-
temente perda completa da camada epitelial e distoro das criptas. Um infiltrado
inflamatrio ligeiro ou moderado detectado na lamina propria. Dentro de uma
semana pode ocorrer reparao das leses, observando-se ento um padro his-
tolgico normal.
EXAMES IMAGIOLGICOS
O Rx simples do abdmen usualmente normal mas pode demonstrar espessa-
mento de pregas ou sinais de dedadas. Os exames com brio e a tomografia
computorizada (TC) no so estudos de primeira linha. O clister opaco com duplo
contraste substitui a colonoscopia quando esta no pode ser realizada. Uma dis-
tribuio lesional segmentar, com ou sem ulceraes, sugere fortemente isqumia.
As alteraes precoces de exsudao e hemorragia na submucosa resultam em
sinais radiolgicos tpicos, lembrando impresses digitais. Estes sinais no so
especficos da colite isqumica, uma vez que tambm podem aparecer no sarco-
ma de Kaposi e no melanoma. O clister opaco est contra-indicado quando existe
suspeita de perfurao ou de enfarte intestinal. A TC tem baixa especificidade e
no faculta usualmente dados significativos.
ANGIOGRAFIA
A angiografia mesentrica no est indicada na colite isqumica. Mesmo que evi-
dencie uma leso vascular, no estabelece de forma conclusiva uma relao de
causalidade. Os dados angiogrficos raramente se correlacionam com a doena cl-
nica. Ter eventualmente indicao na isqumia do clon direito e quando se sus-
peita de envolvimento do intestino delgado.
O tratamento da colite isqumica deve ser conservador e expectante. Na maioria dos
doentes, os sintomas e sinais de colite isqumica comeam a desaparecer dentro de
24-48 horas. No tratamento esto includas as seguintes medidas:
MEDIDAS GERAIS
INTESTINO - Isqumia Intestinal
343
Ressuscitao do doente com fluidos. Evitar frmacos que diminuem o dbito car-
daco, assim como medicamentos vaso-constritores, designadamente a digoxina.
Os laxantes esto contra-indicados. A corticoterpia no tem eficcia.
DIETA
Dieta zero inicial. s 24 horas, nos casos ligeiros, ingesto de lquidos. Uma dieta
normal deve ser diferida at realizao de uma colonoscopia de controlo.
ANTIBITICOS
A antibioterpia deve ser individualizada. Est indicada nos doentes bastante afec-
tados, com arrepios e febre, ou que tm uma prtese valvular cardaca.
ESTUDOS DE FOLLOW-UP
obrigatria a repetio da colonoscopia ou do clister opaco, para eliminar doen-
as associadas, nomeadamente diverticulite e cancro do clon. Em 10-20% dos
doentes encontram-se leses associadas. A leso isqumica encontra-se quase
sempre prxima de um tumor, quando este existe.
CIRURGIA
A colite isqumica tipo I raramente requer cirurgia. Pelo contrrio, a colite isqu-
mica tipo II, muito mais rara (cerca de 15-18%), exige quase sempre cirurgia de
emergncia. Nos casos de colite crnica que no responde teraputica mdica,
ou nas situaes que induziram uma estenose sintomtica, h necessidade de
interveno cirrgica electiva.
Doenas do Aparelho Digestivo
344
INTESTINO - Isqumia Intestinal
345
REFERNCIAS
Hirhberg A, Adar R. Mesenteric Insufficiency. In: Wolfe MM( Ed). Therapy of Digestive Disorders W.B. Saunders Co 2000: 629- 635.
Brandt LJ, Smithline AE. Ischemic Lesions of the Bowel. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH. (Eds). Sleisenger & Fordtrans
Gastro-intestinal and Liver Disease. W.B. Saunders Co 1998: 2009-2023.
Van Bockel JH, Geelkerken RH, Wasser MN. Chronic splanchnic ischemia. Best Pract & Res Clin Gastroenterol 2001: 15 (1): 99-120.
Greenwald DA, Brandt LJ. Colonic Ischemia. J Clin Gastroenterol 1998; 27 (2): 122-128.
Reinus JB, Brandt LJ, Boley SJ. Ischemic diseases of the bowel. Gastroenterol Clin N Am 1990; 19: 319-43.
Brandt LJ, Boley SJ. Colonic ischemic. Surg Clin North Am 1992; 72: 203-229.
Guttormson NL, Buboick MP. Mortality from ischemic colitis. Dis Col Rect 1989; 32: 469-72.
Taourel PG, Deneuville M, Pradel JA et al. Acute mesenteric ischemia: diagnosis with contrast-enhanced CT. Radiology 1996; 199: 632-636.
Boley SJ, Kaleya RN, Brandt LJ. Mesenteric venous thombosis. Surg Clin North Am 1992; 72: 183-202.
Stoney RJ, Cunningham CG. Acute mesenteria ischemic. Surgery 1993; 114: 489-490.
Lock G, Scholmerich J. Non-occlusive mesenteric ischemia. Hepato-gastroenterology 1995; 42: 234-39.
Boley SJ, Brandt LJ, Veith FJ. et al. A new provocative test for chronic mesenteric ischemia. Am J Gastroenterol 1991; 86: 888-891.
Moawad J, Gewertz BL. Chronic mesenteric ischemia: clinical presentation and diagnosis. Surg Clin North Am 1997; 77: 357-370.
Scowcroft CW, Sanowski RA, Kozarek RA, Kozarek RA. Colonoscopy in ischemic colitis. Gastrointest Endosc 1981; 27: 156-161.
Nunes ACR, Amaro P. Freitas D et al. Factores prognsticos de morte na colite isqumica. GE J Port. Gastrenterol 2001; 8 (2): 121-125.
Brandt LJ. Thrombophilia and colon ischemia: Aura popularis? Gastroenterology. 2001 Sep;121(3):724-6.
Lock G. Acute intestinal ischaemia. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Feb;15(1):83-98.
Andrei VE, Schein M, Wise L. Small bowel ischemia following laparoscopic cholecystectomy. Dig Surg. 1999;16(6):522-4.
Brandt LJ, Boley SJ. AGA technical review on intestinal ischemia. American Gastrointestinal Association. Gastroenterology. 2000
May;118(5):954-68.
Gaubitz M, Domschke W. Intestinal vasculitisa diagnostic-therapeutic challenge. Z Gastroenterol. 2000 Feb;38(2):181-92.
Rha SE, Ha HK, Lee SH, Kim JH, Kim JK, Kim JH, Kim PN, Lee MG, Auh YH. CT and MR imaging findings of bowel ischemia from various pri-
mary causes. Radiographics. 2000 Jan-Feb;20(1):29-42.
Vicente DC, Kazmers A. Acute mesenteric ischemia. Curr Opin Cardiol. 1999 Sep;14(5):453-8.
Schwarz B, Salak N, Hofstotter H, Pajik W, Knotzer H, Mayr A, Hasibeder W. Intestinal ischemic reperfusion syndrome: pathophysiology,
clinical significance, therapy. Wien Klin Wochenschr. 1999 Jul 30;111(14):539-48.
Haglund U, Bergqvist D. Intestinal ischemia - the basics. Langenbecks Arch Surg. 1999 Jun;384(3):233-8.
Kubes P. The role of adhesion molecules and nitric oxide in intestinal and hepatic ischemia/reperfusion. Hepatogastroenterology. 1999
Jun;46 Suppl 2:1458-63.
Hassan HA. Oral contraceptive-induced mesenteric venous thrombosis with resultant intestinal ischemia. J Clin Gastroenterol. 1999
Jul;29(1):90-5.
Alapati SV, Mihas AA. When to suspect ischemic colitis. Why is this condition so often missed or misdiagnosed? Postgrad Med. 1999
Apr;105(4):177-80, 183-4, 187.
Doenas do Aparelho Digestivo
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
347
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XVI
DOENA INFLAMATRIA INTESTINAL
1. Introduo
2. Epidemiologia
3. Factores de Risco
4. Patomorfologia
5. Etiopatogenia
6. Clnica e Diagnstico
7. Manifestaes Extra-Intestinais
8. Tratamento
347
Doenas do Aparelho Digestivo
1. INTRODUO
A doena de Crohn e a colite ulcerosa so doenas inflamatrias crnicas do tracto
gastointestinal, de causa desconhecida. So identificadas e diagnosticadas por um
conjunto de dados clnicos, endoscpicos e histolgicos. A reaco inflamatria da
colite ulcerosa est predominantemente confinada mucosa e submucosa, mas na
doena de Crohn o processo inflamatrio invade a parede intestinal, desde a mucosa
serosa. A colite ulcerosa est confinada ao clon, sendo a colectomia uma terapu-
tica curativa. Em contraste, a doena de Crohn tem a potencialidade de envolver qual-
quer segmento do tracto gastrointestinal. A resseco do segmento inflamado no
curativa, havendo frequentemente recorrncia do processo inflamatrio aps a cirur-
gia. Apesar destas diferenas de distribuio lesional, no existe um nico achado que
seja absolutamente exclusivo de uma ou de outra entidade. Alm disso, h um grupo
de doentes com um quadro clnico e morfolgico que se situa entre estas duas doen-
as. comum referir que esses doentes tm uma colite indeterminada.
H um aumento na incidncia de doena de Crohn nos parentes prximos de doen-
tes com esta enfermidade. A mesma afirmao verdadeira para o caso da colite ulce-
rosa. Este padro de agregao familiar sugere que existe uma base gentica em
ambas as enfermidades. Atendendo s semelhanas clnicas e histolgicas destas
duas doenas, e base gentica que aparentemente compartilham, e considerando
que a sua etiologia desconhecida, entendeu-se descrever a colite ulcerosa e a doen-
a de Crohn no mesmo captulo, intitulado Doena Inflamatria Intestinal (DII).
2. EPIDEMIOLOGIA
A incidncia de DII varia muito em termos geogrficos e no seio de distintas popula-
es. A evidncia de diferenas entre grupos populacionais e dentro desses grupos,
permite extrair concluses sobre possveis factores causais.
No quadro seguinte sumariam-se os dados mais salientes da epidemiologia da DII:
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
349
COMENTRIOS
A variao norte-sul na taxa de incidncia, escala mundial, sugere que factores do
ambiente jogam um papel importante na patognese da DII.
Nos ltimos tempos, registou-se uma inflexo nas variaes geogrficas das taxas de
incidncia. Na Europa, pelo menos, os pases do sul tendem a apresentar registos de
frequncia quase comparveis aos do norte, desconhecendo-se as razes desta varia-
o.
No tocante s variaes temporais da incidncia, se na colite ulcerosa os dados so
variveis, o mesmo no sucede na doena de Crohn, evidenciando-se um incremento
consistente na sua frequncia, provavelmente resultante de factores ambientais.
Na maioria dos estudos, evidencia-se uma distribuio bimodal destas doenas no
tocante idade. A incidncia da colite ulcerosa e da doena de Crohn atinge um pri-
meiro pico entre os 15 e os 30 anos de idade, e um segundo pico, mais pequeno,
entre os 60 e os 80 anos, neste caso mais consistentemente na doena de Crohn.
Sugerem alguns autores que a DII na idade jovem dependeria, em parte, de uma pre-
disposio gentica, enquanto que no idoso seria resultado de uma exposio crni-
ca a factores do ambiente.
No tocante ao sexo, no se apuram diferenas de incidncia no que respeita colite
ulcerosa. Pelo contrrio, a doena de Crohn atinge mais frequentemente a mulher do
que o homem com uma relao que varia, consoante os estudos, entre 1:1 at 1.8:1.
A raa branca mais atingida do que outras raas, nomeadamente a asitica. Estudos
Doenas do Aparelho Digestivo
350
EPIDEMIOLOGIA DA DOENA INFLAMATRIA INTESTINAL
Varivel Colite ulcerosa Morbus Crohn
Taxa de incidncia (por 100.000) Pases do Norte: 6-12 Pases do Norte: 5-7
Pases do Sul: 2-8 Pases do Sul: 0.1-4
Tendncias temporais Variveis em diferentes Aumento de frequncia em
na incidncia reas geogrficas todo o mundo, com recente
tendncia para plateau
Incidncia racial Mais frequente em brancos Mais frequente em brancos
Incidncia tnica Mais frequente em judeus Mais frequente em judeus
Influncia gentica Maior frequncia no seio Maior frequncia no seio
familiar familiar
- Antecipao gentica Antecipao gentica
Putativo locus de
susceptibilidade no
cromossoma 16
Efeito do tabaco Diminui o risco Aumenta o risco
Efeito da apendicectomia Pode baixar o risco Efeito desconhecido
em populaes migrantes evidenciam que grupos provenientes de reas de menor
risco, acabam por apresentar taxas de incidncia comparveis s do pas de acolhi-
mento, sugerindo, uma vez mais, a interferncia de factores do ambiente.
A incidncia da DII nos judeus 2-4 vezes superior de outros grupos tnicos.
Contudo, a frequncia da doena nos judeus varia consoante as regies, sugerindo
que factores do ambiente modulam a predisposio gentica para DII.
Estudos de Sonnenberg et al confirmam um aumento da incidncia de DII em popu-
laes urbanas v. populaes rurais, admitem que as classes scio-econmicas mais
desafogadas so mais atingidas e postulam um maior risco de DII em ocupaes exer-
cidas em ambientes confinados, em contraste com as ocupaes ao ar livre. Esta teo-
ria consistente com a distribuio geogrfica da DII, com maior incidncia nos cli-
mas dos pases do norte, onde as populaes passariam menos tempo no ambiente
exterior.
3. FACTORES DE RISCO
GENTICA
Vrias linhas de evidncia indicam que factores genticos esto envolvidos na gne-
se da DII.
J referimos que os judeus apresentam uma predisposio gentica para a DII.
Vrios estudos evidenciam que a DII ocorre com mais frequncia dentro de agre-
gados familiares. De facto, a ocorrncia de DII num membro de uma famlia,
considerado o mais forte factor individual de risco.
Existe tambm evidncia de que os casos familiares de DII so concordantes em
vrias caractersticas da doena. De facto, Lee e Lennard-Jones, ao seguirem 67
famlias com mltiplos casos de DII, apuraram os seguintes achados: em 27 fam-
lias onde o caso index era de colite ulcerosa, esta desenvolveu-se em 48 membros
da famlia, enquanto que a doena de Crohn s ocorreu em 9 membros. Pelo con-
trrio, em 40 famlias onde o caso index correspondia a doena de Crohn, esta
foi identificada em 71 casos adicionais, enquanto que a colite ulcerosa s ocorreu
em 18 casos.
Os filhos de doentes com DII desenvolvem a doena em idades mais jovens do
que a dos pais, fenmeno designado de antecipao gentica. Alm disso, a dis-
tribuio anatmica e a severidade clnica da doena de Crohn tendem a ser simi-
lares dentro dos membros familiares afectados.
Vrios estudos referem uma elevada frequncia de DII em gmeos mono ou dizi-
gticos. Se num par de gmeos, um deles adquire, por exemplo, colite ulcerosa,
o outro poder contrair a mesma enfermidade, e no a doena de Crohn. Esta regra
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
351
da concordncia s raramente tem sido contrariada.
O papel predominante do sistema imunitrio na patognese da DII chamou a aten-
o para a possvel interveno dos antignios HLA na predisposio gentica para
a DII. Vrios estudos encontraram uma associao significativa ente o alelo HLA-
DR
2
e a colite ulcerosa, e mais vincadamente nos casos de pancolite. Na doena
de Crohn, um estudo de meta-anlise apurou uma associao entre esta doena e
o HLA-A2. Toyoda et al encontraram uma associao significativa com o HLA-RD1
DQw5.
Hugot et al localizaram um provvel locus de susceptibilidade para a doena de
Crohn no cromossoma 16. Este locus no estaria relacionado com a colite ulcero-
sa. Outros locus de susceptibilidade foram identificados nos cromossomas 3, 7 e
12, sugerindo que se trata de duas doenas polignicas.
FACTORES DO AMBIENTE
Tabaco
O consumo de tabaco o factor ambiental mais extensamente estudado na DII,
tendo-se apurado que os seus efeitos nas duas principais formas de DII so com-
pletamente divergentes. Com efeito, o consumo de tabaco diminui o risco de coli-
te ulcerosa, mas aumenta o risco de doena de Crohn. Resultados de uma meta-
anlise de vrios estudos sugerem que o risco de desenvolvimento de colite ulce-
rosa nos fumadores de cerca de 40% relativamente aos no fumadores. Esta
associao independente do sexo e do perfil gentico.
O consumo de tabaco tambm tem efeito na evoluo da colite ulcerosa: menor
ndice de hospitalizao e diminuio da incidncia de pouchitis nos doentes
submetidos a colectomia.
Em contraste com a colite ulcerosa, o consumo de tabaco duplica a frequncia de
doena de Crohn, e aumenta a incidncia de recidivas (4 vezes mais na mulher).
importante sublinhar que o risco de desenvolvimento de colite ulcerosa e doen-
a de Crohn em crianas cujos pais fumam, de duas vezes e cinco vezes mais,
respectivamente.
Desconhece-se o mecanismo que afecta a frequncia e a evoluo da DII nos indi-
vduos fumadores. Alterao na produo de muco no clon? Reduo do fluxo
sanguneo rectal? Efeito no sistema imunitrio?
Contraceptivos orais
Est provado que a utilizao de contraceptivos orais aumenta o risco de doena
de Crohn. Esse risco tanto maior, quanto mais longo for o uso desses produtos.
Quanto colite ulcerosa, os dados disponveis so menos claros. Alguns autores
defendem que constituem factor de risco, enquanto que outros no evidenciaram
essa possibilidade.
Doenas do Aparelho Digestivo
352
Dieta
Vrios factores dietticos tm sido implicados na patognese da DII. Alguns estu-
dos concluram que os doentes de Crohn consumiam mais hidratos de carbono e
aucares refinados, relativamente a grupos de controlo. Outros estudos analisaram
o consumo de margarina, caf, lcool e dietas ricas em peixe ou frutos e vegetais.
Os resultados so inconsistentes e inconclusivos. As metodologias utilizadas tm
limitaes, pelo que no possvel extrair corolrios vlidos relativamente asso-
ciao entre a dieta e a DII.
Infeco
O vrus do sarampo tem sido incriminado como factor de risco de doena de
Crohn, com base em dados epidemiolgicos e de biologia molecular. Tambm a
vacina do sarampo foi apontada como factor de risco. No entanto, estudos pros-
pectivos recentes no confirmam essa associao. Permanece incerto o papel deste
vrus na DII.
Vrios outros agentes infecciosos tm sido implicados na patognese da DII:
Escherichia coli, Mycobacterium paratuberculosis, e outros microorganismos. um
campo de pesquisa que tem suscitado ultimamente muita ateno, merc dos
avanos tcnicos no mbito da biologia molecular.
Miscelnea
O aleitamento materno conferiria proteco no desenvolvimento da DII.
Infeces pr-natais na me ou infeces ps-partum precoces na criana, repre-
sentariam factores de risco.
A apendicectomia protegeria contra o desenvolvimento da colite ulcerosa. Se se
confirmar esta sugesto de alguns autores, pertinente especular sobre o efeito
teraputico da apendicectomia no doente atingido por colite ulcerosa.
4. PATOMORFOLOGIA
DOENA DE CROHN
Aspecto macroscpico
A observao de uma pea de resseco intestinal evidencia uma consistncia endu-
recida, distorso e aderncias fibrinosas, inflamatrias e fibrosas na serosa. Podem
observar-se abcessos periclicos ou mesentricos, fstulas e aderncias. Os gnglios
linfticos mesentricos esto hipertrofiados. Seccionando a parede intestinal, verifica-
se que se encontra espessada, plida e fibrtica. A espessura pode atingir 15 mm. A
mucosa apresenta um aspecto variegado, desde uma aparncia quase normal, at
ulceraes lineares ou punctiformes, ou reas ulceradas confluentes. Uma caracters-
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
353
tica peculiar a observao de zonas indemnes intervalando com reas lesionadas.
Nas zonas intestinais adjacentes, relativamente no afectadas, podem identificar-se
leses macroscpicas iniciais, designadamente lceras aftides e picotado hemorrgi-
co. As leses descontinuas e assimtricas da parede assumem um aspecto em empe-
drado muito caracterstico cobblestone like-.
Exame microscpico
No existem achados histolgicos patognomnicos de doena de Crohn. O diagnsti-
co morfolgico apoia-se nas seguintes caractersticas:
Granulomas.
Os granulomas epiteliides no caseificados constituem um dos achados mais
peculiares da doena. Esto presentes em cerca de 50% dos casos. So constitu-
dos por aglomerados de clulas epiteliides, macrfagos e linfcitos, localizando-
se preferencialmente na lamina propria e na submucosa, podendo ainda ser visua-
lizados em gnglios mesentricos ou periclicos, ou envolvendo artrias. Estes gra-
nulomas incluem ocasionalmente clulas gigantes, mas raramente evidenciam
necrose central.
Inflamao.
A doena de Crohn caracterizada por um processo inflamatrio transmural. O
infiltrado celular inclui linfcitos, plasmcitos e macrfagos. Nas formas activas
existe um aumento dos leuccitos polimorfonucleares. Ao contrrio da colite ulce-
rosa, os abcessos das criptas ocorrem muito raramente. Pode ocorrer a permeao
do epitlio das criptas por linfcitos. Em todas as tnicas da parede observam-se
agregados linfides, alguns deles com centros germinativos activos.
lceras.
As ulceraes so precedidas de hemorragias focais da mucosa e de eroses
superficiais, que ocorrem em associao com agregados focais de macrfagos e
trombos plaquetares nos capilares da mucosa. Estas alteraes associam-se com
lceras aftides, que so reas de destruio de algumas glndulas sob as quais
existe uma base inflamatria crnica ou granulomatosa. As lceras maiores apre-
sentam uma base estreita ou fissurada, e tendem a penetrar atravs da submuco-
sa. Podem ento atingir a tnica muscular, originando fstulas ou abcessos na pare-
de ou nas estruturas vizinhas.
Alteraes epiteliais.
O epitlio de superfcie pode evidenciar vrias alteraes que representam a reac-
o ou adaptao ao processo inflamatrio crnico, tendo em vista a reparao e
a cicatrizao. Na presena de inflamao activa, essas alteraes so difceis de
Doenas do Aparelho Digestivo
354
distinguir de fenmenos de displasia, que alis pode ocorrer em casos de doena
prolongada. Podem tambm observar-se focos de metaplasia pilrica, depleco
de clulas caliciformes e aumento da populao de clulas endcrinas.
Alteraes do tecido conectivo.
A submucosa torna-se espessada por fibrose e agregados linfides. H aumento
do nmero e dimenso dos neurnios na submucosa e nos plexos mientricos.
Tambm aumenta o nmero de fibras nervosas VIP-rgicas. Desconhece-se o sig-
nificado destas alteraes neurais e neuronais. A muscularis propria apresenta
degenerescncia focal e fibrose, e a muscularis mucosae pode sofrer hipertrofia
significativa, sobretudo nas reas em reparao.
COLITE ULCEROSA
Aspecto macroscpico
O aspecto macroscpico depende da actividade e da durao da doena. Na doena
severa de incio agudo (megaclon txico), o intestino grosso encontra-se distendido,
de parede frivel e fina. Mais usualmente a doena est confinada mucosa, com
reaces discretas na submucosa. Em contraste com a doena de Crohn, a parede
intestinal no se encontra espessada ou fibrosa, e a serosa tem uma aparncia nor-
mal. A mucosa superficial caracteriza-se inicialmente por hipermia e fragilidade capi-
lar. medida que o processo se agrava, surgem ulceraes irregulares, que se volvem
confluentes. Desta forma, vo desaparecendo as pontes mucosas, a superfcie da
mucosa desnuda-se, restando ilhus de mucosa residual, hipermicos, inseridos em
reas de submucosa lisa e inflamada.
Exame microscpico
As alteraes mais precoces da mucosa consistem em trombos plaquetares capilares
e eroses epiteliais focais. medida que o processo avana, a mucosa infiltrada por
clulas inflamatrias agudas e crnicas, incluindo linfcitos, plasmcitos e leuccitos
polimorfonucleares. Um achado tpico o aparecimento de abcessos nas criptas,
muito mais evidentes do que na doena de Crohn. Os eosinfilos tambm so proe-
minentes, sendo raros os granulomas. Quando a doena regride com a teraputica
adequada, diminui o componente inflamatrio e h reparao mucosa das zonas ulce-
radas. Com o desaparecimento da inflamao aguda, o componente inflamatrio cr-
nico pode tornar-se mais pronunciado, verificando-se que os agregados linfides apa-
recem mais densos e confluentes. As glndulas encontram-se reduzidas em nmero
e dimenso, estando separadas da muscularis mucosa subjacente (atrofia glandular).
Observam-se tambm alteraes epiteliais reactivas: depleco das clulas calcifor-
mes, atipias inflamatrias, metaplasia pilrica e de clulas de Paneth, assim como dis-
plasia ou mesmo carcinoma. O intestino delgado no se encontra directamente envol-
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
355
vido na colite ulcerosa. Ocasionalmente, a pancolite severa origina incompetncia da
vlvula ileo-cecal, e inflamao associada do leon terminal, de baixo grau. A este
fenmeno chama-se backwash ileitis.
5. ETIOPATOGENIA
Um dos diagramas mais esclarecedores e completos visando enquadrar os mltiplos
factores implicados na etiopatogenia da DII, luz dos conhecimentos actuais, da
autoria de Claudio Fiocchi que nos permitimos adaptar neste texto, pelo seu interes-
se pedaggico:
Mediadores solveis
Molculas de adeso
celular
ROM - Reactive oxygen metabolites
ETIOPATOGENIA DA DOENA INFLAMATRIA INTESTINAL
Genes
Ambiente
(tabaco, dieta, outros factores)
Flora intestinal
Agente especfico
(Bactria? Vrus?)
Evento
inductor
Sistema no imunitrio Sistema imunitrio
T
B
Neutrfilos
Eosinfilos
Moncitos
Clulas Clulas
Eptiteliais
Endoteliais
Mesenquimatosas
Nervosas
Matriz
Anticorpos
Autoanticorpos
Factores de
crescimento
Inflamao
intestinal
Enzimas
proteolticos
Neuropeptdeos ROM*s, NO
Citocinas
Eicosanides
Doenas do Aparelho Digestivo
356
COMENTRIOS
A etiologia da DII permanece desconhecida. Estudos clnicos e laboratoriais sugerem
que factores genticos e ambientais jogam um papel importante na patognese desta
entidade. Por outro lado, estudos imunolgicos recentes indicam que a inflamao
crnica da mucosa resulta de uma resposta inapropriada do sistema imunitrio intes-
tinal a um ou mais antignios presentes na flora intestinal normal. H evidncia de
que as leses tissulares podem ocorrer em resultado de complexas e dinmicas inte-
races entre as clulas imunes e no imunes. De facto, foram parcialmente caracte-
rizados sinais moleculares que consubstanciam a base biolgica para essa interaco.
De uma forma esquemtica, podemos conceber trs tipos de factores na etiopatoge-
nia da DII:factores condicionantes, factores causais ou promotores, e factores media-
dores ou moduladores.
No tocante aos factores condicionantes, importa sublinhar sobretudo os factores gen-
ticos e ambientais, j abordados no captulo dedicado aos factores de risco da DII.
Os estudos genticos efectuados na DII indicam a ocorrncia de vrias anomalias, que
no so idnticas na colite ulcerosa e na doena de Crohn, como se sublinha no qua-
dro seguinte:
No que respeita aos factores do ambiente, referimos, no captulo sobres Factores de
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
357
ASSOCIAES GENTICAS E IMUNOLGICAS DA DII
Associao Colite ulcerosa Doena de Crohn
HLA-A3
HLA-A9, HLA-B27
HLA-A7, A11
HLA-B12, DR1, DQB1*0501
b
HLA-Bw52,-Bw35, DQw1, DPB1*0901
a
DR2, DRB1*1502
a,b
D4, DRw6 1
a,b
DRB1*01, *07, *0501, *1302, DRB3*0301
DRB1*03, DQB1*0602 *0603
Cromossomas 3, 7 e 12 Linkage Linkage
Cromossoma 16 Linkage
c
ANCA-positivo
ICAM-1, ANCA-negativo
CAM-1, ANCA-positivo -
ANCA anticorpos anti-citoplasmticos dos neutrfilos c excepto em doentes judeus
a doentes japoneses ICAM molculas de adeso intercelular
b doentes judeus
Risco, o papel patognico do tabaco, da dieta, dos contraceptivos orais, e de outros
eventuais agentes.
Os factores condicionantes referidos genricos e ambientais -, em interaco com
agentes promotores, desencadeariam um evento indutor, que dispararia o desenvol-
vimento e a perpetuao da DII. Postula-se actualmente que a microflora intestinal
constitui o principal agente promotor da DII, pelas razes seguintes:
a) A inflamao mais frequente em zonas com maior concentrao bacteriana;
b) Bactrias entricas invadem as lceras e fstulas da mucosa;
c) Na DII activa verifica-se uma quebra da tolerncia flora entrica;
d) A diverso do fluxo fecal diminui a actividade da doena;
e) O contedo intestinal induz recidiva ps-operatria de doena de Crohn no leo
terminal;
f ) Produtos bacterianos purificados podem iniciar e perpetuar a inflamao expe-
rimental;
g) Um ambiente isento de microorganismos atenua ou previne a inflamao em
modelos experimentais.
Se parece bem evidente o papel patognico da flora entrica comensal e dos seus
produtos metablicos, no existe prova de um efeito patognico directo de um agen-
te infeccioso especfico, nomeadamente do Mycobacterium paratuberculosis e do vrus
do sarampo.
O evento indutor que resultou da interaco de factores condicionantes (genticos e
ambientais) e de factores promotores (flora intestinal), vai desencadear uma comple-
xa e dinmica reaco nos sistemas imunitrio e no imunitrio da parede intestinal,
que culmina no desenvolvimento da DII.
No que respeita reaco imunitria, os aspectos mais importantes a sublinhar so
os seguintes:
a. Imunidade humoral
Reaco imunolgica humoral, com aumento dos anticorpos IgA, IgM e IgG, sobre-
tudo desta. A IgG1 aumenta mais na colite ulcerosa, e a IgG2 na doena de Crohn.
Elevada prevalncia de pANCAs perinucelar antineutrophil cytoplasmic antibodies
na colite ulcerosa, sobretudo em formas agressivas e nos doentes que desenvol-
vem quadros de pouchitis.
b. Imunidade celular
Acentuada activao dos linfcitos B e T, na colite ulcerosa e na doena de Crohn.
Nesta ltima entidade, as clulas T so resistentes apoptose, ao contrrio do que
sucede na colite ulcerosa.
Existe evidncia substancial relativamente ao papel essencial desempenhado pelas
Doenas do Aparelho Digestivo
358
clulas T CD4
+
na patognese da DII, e sobretudo na doena de Crohn.
Em resultado do seu estado de activao, as clulas T sintetizam grande quantidade
de citocinas, que directa ou indirectamente contribuem para a expanso e agravamen-
to do processo inflamatrio. Na doena de Crohn, essas citocinas so do tipo T-hel-
per-1 (Th1), sendo de salientar o interfero-gama (IFN-gama) e o factor de necrose
tumoral (TNF-). O IFN-gama facilita a activao de macrfagos e a libertao de cito-
cinas pr-inflamatrias IL-1, IL-6 e TNF- - que mantm e expandem a resposta infla-
matria local. Tambm importante sublinhar que a diferenciao em clulas Th1
essencialmente consequncia da produo de interleucina-12 pelos macrfagos acti-
vados.
Na colite ulcerosa, a expresso da IFN-gama menor do que na doena de Crohn. Os
linfcitos T da colite ulcerosa libertam IL-5, que poder ser relevante no aumento da
imunidade humoral. Pelo contrrio, a produo de IL-12 rara ou no detectvel. No
entanto, a ideia de que na colite ulcerosa predomina uma resposta tipo Th2, ainda
no se encontra comprovada.
Relativamente imunidade celular no especfica, tambm se encontra alterada na DII.
Os doentes com colite ulcerosa e doena de Crohn produzem moncitos em excesso,
sendo previsvel a sua interveno na patognese da DII. Por outro lado, admite-se
actualmente que os neutrfilos polimorfonucleares ampliam a inflamao e as leses
tissulares na DII. menos evidente o papel desempenhado pelos eosinfilos, basfi-
los e mastcitos.
No tocante ao sistema celular no imunitrio, comprovou-se que as clulas epiteliais,
mesenquimatosas, nervosas e endoteliais intervm na patognese da DII.
As anomalias detectadas a nvel dos sistemas imunitrio e no imunitrio, expressam-
se, em ltima anlise, na elaborao de mediadores da imunoregulao e da inflama-
o e, por outro lado, na produo de mediadores de cicatrizao ou de leso.
No tocante aos mediadores de imunoregulao citocinas imunoreguladoras -, est
documentado que a IL-2 est intimamente envolvida na patognese da doena de
Crohn, bem como a IL-12 e o IFN-gama. As informaes quanto ao papel de outras
citocinas imunoreguladoras na DII so limitadas ou inconsistentes.
Quanto s citocinas pr-inflamatrias, encontram-se consistentemente elevadas na
DII, quando aferidas na mucosa. o caso da IL-1, IL-6, TNF- e eventualmente IL-8.
No que respeita aos mediadores de cicatrizao e de leso factores de crescimen-
to, eicosanides, metabolitos do oxignio e do nitrognio, e cidos gordos de cadeia
curta tm sido objecto de investigao no mbito da patognese da DII. Numa breve
sntese, apurou-se que o TGF- aumenta na fase activa da DII, enquanto que o TGF-
aumenta na fase de quiescncia; que, no tocante aos eicosanides, a PGE2, o trom-
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
359
boxano E2 e o leucotrieno 4 aumentam significativamente na colite ulcerosa, mas
no na doena de Crohn; que se detectam grandes quantidades de radicais livres de
oxignio e de NO na mucosa da colite ulcerosa e do Crohn; e que os enemas de buti-
rato induzem efeito benfico na colite ulcerosa distal.
6. CLNICA E DIAGNSTICO
DOENA DE CROHN
CLNICA
A apresentao clnica da doena de Crohn determinada sobretudo pela localizao
da inflamao intestinal. H trs principais padres de distribuio da doena: em
40% dos doentes o processo localiza-se no leo e no cego; em 30% dos casos a doen-
a radica no intestino delgado; e em cerca de 25% a localizao confina-se ao clon.
Muito raramente, pode ocorrer afectao da boca, do esfago, estmago e duodeno.
Os sintomas mais caractersticos so a diarreia (70-90%), a dor abdominal (45-65%)
e a perda de peso (65-75%). As manifestaes extra-intestinais podem ocorrer em per-
centagens que podem atingir um tero dos doentes.
Alm da anlise semiolgica dos sintomas e dos sinais clnicos, importante registar
na histria clnica os seguintes elementos:
Evoluo temporal da doena, pois muitos doentes referem crises sintomticas
peridicas ao longo de anos, antes da consulta mdica, ou foram considerados
casos de clon irritvel.
Existncia de histria familiar de DII, circunstncia que aumenta marcadamente a
probabilidade de doena de Crohn.
Dado que existe uma significativa associao entre a doena de Crohn e a espon-
dilite anquilosante, uma histria pessoal ou familiar desta artropatia axial deve
suscitar suspeita.
Outra importante informao a obter diz respeito ao consumo de tabaco, o mais
fortemente implicado factor ambiental na doena de Crohn.
Na histria diettica, deve analisar-se o tipo de alimentao e a natureza de even-
tuais produtos alimentares que suscitem sintomas de dor, diarreia ou distenso.
Ao avaliar doentes com o diagnstico de doena de Crohn j estabelecido, o cl-
nico deve tomar nota dos seguintes factos: 1) meios de diagnstico que foram uti-
lizados; (2) cronicidade e padro clnico da doena; 3) avaliao das teraputicas
farmacolgicas j prescritas, dos seus efeitos e da sua tolerncia; (4) registo de
Doenas do Aparelho Digestivo
360
intervenes cirrgicas realizadas.
Como referimos, a diarreia, a dor abdominal e a perda de peso so os sintomas car-
dinais:
A diarreia muito frequente, variando as caractersticas semiolgicas com a loca-
lizao anatmica da doena. Nos doentes com afectao do clon, sobretudo com
envolvimento rectal, a diarreia pode ser de pequeno volume e associada a urgn-
cia e tenesmo. Na doena confinada ao intestino delgado, as fezes so mais volu-
mosas, sem urgncia ou tenesmo. Nos doentes com envolvimento severo do leo
terminal ou nos que foram submetidos a resseco cirrgica desta zona, a diarreia
secretora ou esteatorreica. Estenoses no intestino delgado podem originar qua-
dros de proliferao bacteriana com desconjugao dos sais biliares e m absor-
o de gorduras. Finalmente, as fistulas internas podem originar diarreia, ou por
colonizao bacteriana do intestino delgado (fstula enteroclica), ou por bypass
de longos segmentos de superfcie de absoro (fstula enteroentrica).
A localizao e as caractersticas da dor correlacionam-se frequentemente com a
localizao da doena. Um padro comum a dor tipo clica no flanco direito, nas
situaes de ileocolite. A dor ocorre usualmente aps as refeies, estando prova-
velmente relacionada com obstruo parcial intermitente numa zona intestinal
estenosada. Nestas circunstncias, a dor pode acompanhar-se de distenso, nu-
seas e vmitos. A dor visceral pode resultar de inflamao da serosa, observada
nas formas transmurais da doena.
A perda de peso de grau significativo ocorre na maioria dos doentes com esta
enfermidade. Nalguns casos resulta de um processo de m absoro, mas na maio-
ria dos doentes devida a diminuio da ingesto de alimentos, por anorexia, ou
porque a alimentao desperta dor ou diarreia.
A doena do clon colite de Crohn associa-se a frequncia elevada de rector-
ragias e envolvimento perianal, mas a uma baixa incidncia de fstulas internas e
obstruo. Pelo contrrio, a doena confinada ao intestino delgado, associa-se a
baixa incidncia de hemorragia e envolvimento perianal, mas a maior frequncia
de obstruo.
Na maioria dos doentes, os sinais fsicos de doena de Crohn so discretos. Pode exis-
tir febrcula, ou picos febris na vigncia de complicaes. Anemia, glossite e leses
aftosas na cavidade oral, so possveis achados no exame fsico. O depauperamento,
a evidncia de desidratao e a taquicardia indicam claramente a necessidade de hos-
pitalizao.
No exame abdominal, a anomalia mais comum a presena de sensibilidade dolo-
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
361
rosa na rea intestinal inflamada, usualmente no flanco direito, onde eventualmente
se palpa uma massa por adeso de ansas intestinais e do mesentrio. Devem ser ins-
peccionadas cicatrizes de cirurgias prvias. O exame anorectal pode revelar doena de
Crohn perianal traduzida em laceraes da pele de tom violceo, ou em fissuras anais,
ou em fstulas perianais e abcessos. A estenose anal outro eventual achado.
DIAGNSTICO
Imagiologia
O Rx do abdmen sem preparao deve ser requisitado na avaliao das formas agu-
das de doena de Crohn. Pode evidenciar sinais de obstruo do intestino delgado,
com vrios nveis lquidos, deslocamento de ansas intestinais sugerindo um processo
inflamatrio na fossa ilaca direita, e inflamao do clon com edema da mucosa e
espessamento da parede. importante para detectar evidncia de sacroilete ou
espondilite anquilosante. Pode tambm ser til na suspeita de megaclon txico ou
de perfurao. Neste caso deve solicitar-se tambm Rx do trax. A deteco de perfu-
rao localizada exige o recurso a TAC ou Ressonncia Magntica (RM).
essencial estudar radiolgicamente o intestino delgado por enteroclise ou trnsito
seriado. O exame por enteroclise faculta informao mais completa, relativamente
extenso das leses, ao comprimento dos segmentos atingidos, ao grau de obstruo
(natureza inflamatria ou fibrtica?) e possibilidade de existncia de complicaes,
designadamente fstulas.
O clister opaco com duplo contraste evidencia a extenso e a actividade da colite de
Crohn, tendo a vantagem sobre a colonoscopia de avaliar melhor a rigidez da pare-
de, o edema da submucosa, pseudodivertculos e fistulizaes, podendo tambm
facultar dados sobre o leo distal. Alm disso um mtodo no invasivo e bem tole-
rado.
A tomografia computorizada (TAC) pode ser importante na avaliao de doentes com
Crohn. Embora no detecte leses da mucosa, pode demonstrar acentuado espessa-
mento transmural e complicaes extra-murais. Fstulas e abcessos podem ser identi-
ficados por esta tcnica. A TAC superior RM na avaliao da doena de Crohn intra-
abdominal, mas a RM tem evidenciado superioridade na evidenciao de leses pl-
vicas, designadamente abcessos isquiorectais e fstulas perirectais.
Endoscopia
A avaliao endoscpica da mucosa intestinal complementada com bipsias dirigidas,
um exame indispensvel no diagnstico da doena de Crohn e na definio da sua
Doenas do Aparelho Digestivo
362
actividade e extenso. A ileocolonoscopia permite a observao macroscpica do
clon e da mucosa ileal com colheita de bipsias para identificao das caractersti-
cas histopatolgicas da doena de Crohn, referidas em captulo anterior. Se existem
estenoses ou aderncias mltiplas, a colonoscopia pode estar comprometida. Na
doena de Crohn o recto encontra-se normalmente poupado, ao contrrio do que
sucede na colite ulcerosa. Apesar disso, devem ser colhidas bipsias a nvel rectal,
para deteco dos granulomas tpicos da doena de Crohn.
A realizao de um estudo endoscpico do tracto digestivo alto obrigatria, quan-
do h suspeita de envolvimento desta rea do tubo digestivo.
Se h sinais clnicos, ecogrficos e bioqumicos suspeitos de colangite esclerosante,
impe-se a realizao de CPRE.
Laboratrio
Os dados laboratoriais podem ser muito teis no mbito da doena de Crohn pelas
seguintes razes: contribuio para o diagnstico, avaliao do grau de actividade
lesional, eliminao de outras possveis causas das queixas clnicas e apuramento
sobre deficincias resultantes de m absoro ou de ingesto alimentar precria.
Na face activa da doena de Crohn, devem ser solicitados os seguintes estudos:
Hemograma com plaquetas;
Sidermia e ferritina srica;
Nveis sricos do folato, vit. B
12
, zinco, clcio, selnio e magnsio;
Provas funcionais hepticas;
VS, protena C reactiva, orosomucide;
Coproculturas (trs vezes), inclundo deteco da toxina do Clostridium difficile;
Ttulos sricos dos anticorpos da Yersinia;
Nveis fecais de calprotectina, para predio de recorrncia clnica;
Anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA);
Anticorpo anti-citoplasmtico dos neutrfilos (pANCA);
Eventualmente estudo radioisotpico com leuccitos marcados pelo 111Indium.
Alm do pANCA e do ASCA, outros anticorpos tm sido estudados como marcadores
da DII, conforme o quadro seguinte:
Na populao adulta, o ANCA na colite ulcerosa tem os seguintes valores de especifi-
cidade, sensibilidade e valor preditivo positivo: 85%, 65%, 74%, respectivamente.
Na populao adulta, o ASCA na doena de Crohn tem os seguintes valores de espe-
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
363
cificidade, sensibilidade e valor preditivo positivo: 88%, 61% e 89%, respectivamen-
te.
COMPLICAES LOCAIS
A doena de Crohn apresenta frequentemente, na sua historia natural, vrias compli-
caes locais, que passamos a indicar:
Obstruo intestinal
Fistulas:
Enterocutneas
Enteroenterais
Coloenterais
Vaginais e urinrias
Abcessos:
Periclicos
Abcesso do psoas
Abcesso heptico
Perfurao livre
Hemorragia aguda
Manifestaes urinrias:
Fistulas
Obstruo ureteral
Doenas do Aparelho Digestivo
364
ANTICORPOS MARCADORES DA DII
Anticorpo Crohn Colite ulcerosa Correlao com actividade Agregao
da doena familiar
pANCA +++ +++
ASCA +++ +
PAB ++
AEA-15 +++ + ?
AECA + ++ +
Linfocitotxico ++ + +
Anti-epitelial + ++ +
Anti-p40 +++ ?
PAB - pancreatic autoantibody AECA - anti-endothelial cell antibody
AEA-15 - antierythrocyte antibody Anti-p40 - antiephitelial autoantibody
Litase renal
Dilatao txica na colite de Crohn
Doena perianal *
Fissuras, ulceraes
Abcessos perirectais
Fstulas
Hemorrides
Prolapso rectal
A incidncia de fissuras e fstulas perianais atinge os 25% nos doentes com enterite
regional, ultrapassando os 60% nos casos de envolvimento predominante do clon.
Quando a regio rectosigmoideia est abrangida pelo processo, a incidncia aproxi-
ma-se dos 100%.
DIAGNSTICO DIFERENCIAL
H mltiplas entidades clnicas que devem ser ponderadas quando se equaciona o
diagnstico de doena de Crohn, porque apresentam quadros clnicos sobreponveis
ou muito parecidos. H dois grandes grupos de patologias que podem ser confund-
veis com a doena de Crohn; (1) processos inflamatrios em orgos adjacentes ou
gnglios linfticos, produzindo dor no flanco direito sugestiva de ilete de Crohn; (2)
doenas neoplsicas, vasculares, infecciosas, infiltrativas ou outras, que envolvem o
intestino delgado e induzem um quadro clnico e radiolgico que mimetiza a enterite
regional:
Processos inflamatrios
Apendicite aguda e abcesso apendicular
Diverticulite cecal
Anomalias tubo-ovricas:
Doena inflamatria plvica
Gravidez ectpica
Quistos/tumores do ovrio
Endometriose
Neoplasias
Carcinoma do cego
Linfosarcoma do jejuno, leo ou cego
Doenas vasculares
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
365
Ilete isqumica (contraceptivos orais)
Vasculites sistmicas (Lupus, Behet, etc.)
Enterite rdica
Doenas infecciosas
Tuberculose ileocecal
Amibase
Infeco por Yersnia
Outras doenas
Jeunoileite ulcerosa crnica no granulomatosa
Gastroenterite eosinoflica
Amiloidose
Quando a doena de Crohn atinge preponderantemente o clon (colite de Crohn),
deve estabelecer-se o diagnstico diferencial com colites infecciosas (amibase,
Shigella, C. difficile, Salmonella, Campylobacter jeuni, Chlamydia trachomatis), e com
a colite ulcerosa idioptica.
So os seguintes os elementos de ordem clnica, radiolgica e histopatolgica que
devem ser valorizados no diagnstico diferencial entre doena de Crohn e colite ulce-
rosa:
HISTRIA NATURAL
Dada a sua natureza proteiforme, a doena de Crohn, em termos de severidade, no
se correlaciona com a extenso do desenvolvimento lesional. Existem nesta doena
essencialmente trs padres clnicos: inflamatrio, estentico e fistulizante. So estes
Doenas do Aparelho Digestivo
366
(1) Diferenas Clnicas
Colite de Crohn Colite ulcerosa
Hemorragia Rara Comum
Dor abdominal Comum Rara
Leso rectal 50% 95%
Leses perianais Comuns Raras
Fstulas Podem ocorrer Raras
Dilatao txica Rara Ocasional
Recorrncia ps-cirurgia Comum Rara
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
367
(2) Complicaes
Colite de Crohn Colite ulcerosa
Doena anal Mais frequente Raro
Dilatao txica Infrequente Mais frequente
Perfurao Rara Mais frequente
Cancerizao Menor risco Maior risco
Estenose Mais frequente Rara
Fstula interna Mais frequente Rara
Hemorragia severa Ocasional Mais frequente
Obstruo intestinal Mais frequente Rara
Colelitase Mais frequente ?
Complicaes renais Mais frequente Raro
Recorrncia ps-colectomia Sim No
(3) Diferenas radiolgicas
Colite de Crohn Colite ulcerosa
Recto Frequentemente normal Usualmente envolvido
Distribuio Segmentar Contnua
Fstula interna Pode ocorrer Rara
Estenoses Frequentes Raras
Simetria Leses assimtricas Usualmente simtricas
(4) Diferenas patomorfolgicas
Colite de Crohn Colite ulcerosa
Macroscopia
Distribuio Segmentar Contnua
Recto Normal (50%) Envolvido (95%)
Fstula Pode ocorrer Rara
Espessamento parietal Pode ocorrer No
Mucosa Tipo empedrado (cobblestone) Difusamente granulosa,
hemorrgica e ulcerada
Microscopia
Inflamao Transmural Mucosa / submucosa
Granulomas Frequentemente presentes No
Clulas caliciformes Usualmente preservadas Depleco
Microabcessos nas criptas Raro Frequente
padres que determinam, em grande parte, a evoluo da doena e a natureza das
complicaes.
O curso clnico da doena de Crohn frequentemente errtico. Anos de recidivas fre-
quentes podem ser seguidos de anos de completa remisso. Num estudo realizado
por Munkolm et al, em 373 doentes seguidos durante um perodo mdio de 8.5 anos,
esses autores apuraram, mediante uma anlise de Markov, que um doente com um
processo activo tinha 70-80% de probabilidade de ter uma doena activa no ano
seguinte. E que 80% dos doentes em remisso, permaneceriam nesse estado duran-
te o ano seguinte. Ao longo de um perodo de 4 anos, 25% dos doentes apresenta-
vam uma doena persistentemente activa, 22% estavam em remisso, e 53% tinham
um curso da doena que flutuava entre anos de remisso e anos de exacerbao. Essa
evoluo no era afectada pelo modo inicial de tratamento, idade, sexo, tempo entre
o incio das queixas e o diagnstico, localizao da doena ou natureza dos sintomas.
Vrios estudos evidenciaram que nos doentes com envolvimento do intestino delga-
do, era mais provvel um padro de doena obstrutiva (fibroestentica), ao passo que
nos casos de afectao do clon eram mais frequentes a inflamao e a hemorragia.
Alm disso, 16-26% de todos os doentes de Crohn desenvolvem fstulas transmurais
ou abcessos, independentemente da localizao anatmica da leso.
Muitos doentes necessitam de cirurgia ao longo da histria natural da doena de
Crohn. Essa percentagem de interveno cirrgica chega a atingir 74% nalgumas
sries. Quanto mais jovem a idade de comeo da doena, maior a probabilidade de
recurso cirurgia.
elevada a recorrncia ps-cirurgia. Nos doentes submetidos a resseco ileal, a reci-
diva tende a ocorrer prximo da anastomose ileoclica. A frequncia exacta de recor-
rncia aps cirurgia, depende da definio de recorrncia. Se esta definida como
necessidade de nova interveno cirrgica, 25-38% dos doentes apresentam uma reci-
diva dentro de 5 anos, e 40-70% recidivam no prazo de 15 anos. Nos doentes sub-
metidos a uma segunda interveno, cerca de 37% requerem uma terceira. Por outro
lado, a evidncia endoscpica de recorrncia acontece em 90% dos doentes, um ano
aps a cirurgia.
COLITE ULCEROSA
CLNICA
Os principais sintomas da colite ulcerosa incluem diarreia, rectorragias, mucorreia e
dor abdominal. O complexo sintomtico varia de acordo com a extenso da doena,
Doenas do Aparelho Digestivo
368
mas em geral a severidade dos sintomas correlaciona-se com a severidade da doen-
a.
Por vezes o incio da doena insidioso e lento, ouras vezes agudo, simulando uma
etiologia infecciosa. No raramente, o episdio de colite ulcerosa precedido de uma
infeco comprovada (por ex. Salmonella ou Campylobacter). Outra forma de apresen-
tao uma histria de episdios intermitentes de diarreia e hemorragia, de tal forma
discretos que no induziram a consulta mdica.
Nos doentes com proctite hemorrgica, isto , doena confinada ao recto, h passa-
gem de sangue vivo, misturado ou no com fezes, frequentemente acompanhado de
muco sanguinolento. Se a doena se estende em sentido proximal, pode ocorrer diar-
reia sanguinolenta significativa, sendo pouco usual a passagem de cogulos. Quando
a doena severa, h emisso de fezes lquidas contendo sangue, ps e resduos
fecais.
A maioria dos doentes com colite ulcerosa activa apresentam diarreia, que pode ser
nocturna. frequente a diarreia ps-prandial, assim como a urgncia, com sensao
de evacuao incompleta, sobretudo quando o recto est severamente atingido. Por
vezes ocorre incontinncia fecal. A diarreia acompanha-se habitualmente de sangue,
muco e ps.
Na maioria dos doentes com colite ulcerosa, a dor no o sintoma proeminente.
Existe um vago desconforto no abdmen inferior, moedouro na fossa ilaca esquerda
ou clica ligeira na parte central do abdmen. Nas crises severas, a dor pode ser
muito intensa.
Outros sintomas podem ocorrer na fase activa da doena: anorexia, nuseas ou vmi-
tos. A perda de peso e a hipoalbuminmia podem ser acentuadas. Nos ataques seve-
ros, existe febre. Os doentes podem ter sintomas resultantes de anemia, designada-
mente fadiga, dificuldades respiratrias e edema maleolar.
Nos doentes com formas ligeiras ou moderadas de colite ulcerosa, o exame fsico
pode no revelar alteraes significativas. Nos episdios severos, o doente aparece
prostrado, emagrecido, anemiado, febril e desidratado. O abdmen pode estar disten-
dido e timpanizado, o clon sensvel palpao e h diminuio dos rudos aus-
cultatrios. Podem detectar-se sinais de manifestaes extra-intestinais.
A severidade da colite ulcerosa pode avaliar-se com base em cririos clnicos, endos-
cpicos e laboratoriais:
Critrios clnicos
Forma ligeira - menos de quatro dejeces/dia, com ou sem sangue, sem distrbios
sistmicos e com velocidade de sedimentao normal.
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
369
Forma moderada mais de quatro dejeces/dia, com distrbios sistmicos mnimos.
Forma severa mais de seis dejeces/dia, com sangue, com evidncia de distrbios
sistmicos: febre, taquicardia, anemia e VS>30.
Critrios endoscpicos
0 Mucosa normal
1 Perda do padro vascular
2 Mucosa granulosa, no frivel
3 Friabilidade da mucosa
4 Hemorragia espontnea, ulcerao
Critrios laboratoriais
Dados laboratoriais que indicam actividade lesional: Protena C reactiva , Plaquetas
, VS , Hemoglobina e Albumina . A leucocitose no um indicador fidedigno na
medida em que pode resultar da corticoterpia.
DIAGNSTICO.
O diagnstico da colite ulcerosa baseia-se na histria clnica, no exame de fezes, no
exame endoscpico e na avaliao histolgica das bipsias do recto e do clon. Os
estudos radiolgicos tambm podem revelar-se teis.
Anlise de fezes
As amostras de fezes de doentes com colite ulcerosa contm glbulos de ps,
hemcias e frequentemente eosinfilos. As culturas de rotina devem excluir infec-
es por Salmonella e Shigella; so necessrias culturas especiais para eliminar a
hiptese de infeco por Campylobacter, C. difficile e Yersnia. Deve excluir-se a
presena de toxina do C. difficile. Por outro lado, o exame a fresco deve excluir a
presena de amebas e em certos casos importante a realizao de culturas espe-
ciais para deteco de gonococos e da Chlamydia. Tambm de considerar a hip-
tese de uma infeco pelo E. Coli 0157:H7 nos processos de incio agudo.
Endoscopia
A colonoscopia um exame essencial no estudo do doente com colite ulcerosa.
Os sinais precoces desta doena traduzem-se em hipermia e edema da mucosa,
com perda do padro vascular. Nas formas mais severas de colite ulcerosa, a muco-
sa assume um aspecto granuloso e frivel ao toque, acabando por apresentar
hemorragias espontneas e ulceraes. O padro lesional difuso, ao contrrio
do que se observa na doena de Crohn. Nos doentes com processos de longa evo-
luo, podem observar-se pseudoplipos. Aps a remisso, a mucosa aparece pli-
da e atrofiada.
A colonoscopia tambm importante para definir a extenso do processo lesional.
Doenas do Aparelho Digestivo
370
Devem ser obtidas mltiplas bipsias ao longo da observao para confirmao
do diagnstico, sobretudo se h dvida relativamente existncia de Morbus
Crohn. Na maioria dos doentes, a colonoscopia para confirmao do diagnstico e
determinao da extenso lesional deve realizar-se quando a doena activa foi
controlada. A primeira observao endoscpica pode consistir somente na realiza-
o de rectoscopia ou pansigmoidoscopia. A colonoscopia tambm essencial
para rastreio do cancro e para avaliao de estenoses e plipos.
Imagiologia
Nos doentes com episdios severos de colite ulcerosa deve realizar-se uma radio-
grafia simples do abdmen, pois permite detectar vrios sinais importantes:
edema e irregularidade da parede clica, espessamento da parede intestinal, ilhus
de mucosa, distenso do intestino delgado e dilatao do coldoco.
O clister opaco com duplo contraste pode revelar: mucosa granulosa, irregularida-
de dos contornos da mucosa, espessamento da parede, ulceraes, edema e
espessamento ou perda das haustras, encurtamento e estreitamento do clon, com
alargamento do espao pr-sagrado.
Laboratrio
Os dados laboratoriais tm interesse para avaliao do grau de actividade da
doena e para documentar anomalias hematolgicas ou bioqumicas. Devem ser
solicitados os seguintes exames:
Hemograma com plaquetas
Sidermia, ferritina srica
K, albumina, imunoglobulinas sricas
Provas hepticas
Protena C reactiva, VS
COMPLICAES LOCAIS
Na evoluo de um processo de colite ulcerosa podem ocorrer as seguintes complica-
es locais:
Leses perianais, idnticas s da doena de Crohn, no entanto com menos fre-
quncia;
Hemorragia massiva
Perfurao
Dilatao aguda (megaclon txico)
Estenoses
Pseudoplipos
Carcinoma do clon, cujo risco aumenta com a durao da doena e com a sua
extenso.
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
371
DIAGNSTICO DIFERENCIAL
O diagnstico diferencial da colite ulcerosa deve fazer-se com:
Doena de Crohn do clon
Colite isqumica
Colite rdica
Colite microscpica
Colite colagnica
Colite por drogas
Colite infecciosa
C. difficile
Salmonella
Shigella
Campylobacter
E. coli: 0157:H7
Yersnia
Amibase
Esquistossomase
Citomegalovrus e Herpes simplex
Proctite sexualmente transmitida (gonorreia, chlamydia, lymphogranuloma)
Clon irritvel
Plipos e tumores colorectais
lcera solitria do recto
Doena diverticular do clon
HISTRIA NATURAL
A maioria dos doentes com colite ulcerosa (80%) tm episdios intermitentes da
doena, mas a durao da remisso varia consideravelmente desde algumas semanas
a muitos anos. Cerca de 10-15% apresentam uma evoluo contnua crnica, enquan-
to que os restantes tm um episdio inicial severo que requer colectomia urgente.
A extenso da doena determina em parte a severidade e a evoluo do processo.
Nos doentes com colite extensa ou total, as crises tendem a ser mais severas e a taxa
de colectomia mais elevada.
Os doentes com proctite, isto , doena limitada ao recto, tm em geral uma evolu-
o benigna, mas muitos deles desenvolvem leses mais extensas com o tempo.
Nalguns doentes a qualidade de vida encontra-se bastante afectada. Os episdios
Doenas do Aparelho Digestivo
372
agudos so particularmente limitativos de uma vida normal. O apoio clinico e psico-
lgico muito importante.
A mortalidade por colite ulcerosa diminuiu drasticamente com a introduo da corti-
coterpia e a teraputica de manuteno com aminosalicilatos. Actualmente inferior
a 2%, uma taxa que engloba a colectomia por urgncia.
7. MANIFESTAES EXTRA-INTESTINAIS
A colite ulcerosa e a doena de Crohn associam-se a mltiplas manifestaes extra-
intestinais, indicadas no quadro seguinte:
8. TRATAMENTO
A doena de Crohn e a colite ulcerosa compreendem uma srie de desordens inflama-
trias idiopticas e heterogneas, resultantes, segundo se postula, de uma activao
crnica da cascata imunoinflamatria em indivduos geneticamente susceptveis.
As modalidades teraputicas utilizadas no tratamento da DII actuam em vrios pon-
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
373
Artropatia aguda 10 15 15 20
Sacroilete 9 11 9 11
Espondilite anquilosante 1 3 3 5
Complicaes oculares 5 15 5 15
Eritema nodoso 10 15 15
Pioderma gangrenosum 1 2 1 2
Colangite esclerosante primria 2 8 1
Coledocolitase 15 30
Nefrolitase 5 10
Amiloidose Rara
COMPLICAES EXTRA-INTESTINAIS NA DII
Complicaes Colite ulcerosa % Doena de Crohn %
tos das vias imunolgica e inflamatria. Embora as teraputicas tradicionais, englo-
bando os aminosalicilatos e os corticosterides, continuem a ser frmacos de primei-
ra linha, os imunomoduladores, designadamente a azatioprina e a 6-mercaptopurina
tm demonstrado crescente utilidade no contexto da resistncia ou da dependncia
corticoterpia. Alm disso, a profilaxia ps-operatria com certos antibiticos, amino-
salicilatos ou imunomoduladores pode ser benfica na preveno de recorrncias em
doentes de Crohn submetidos a interveno cirrgica. Por outro lado, agentes imuno-
supressores previamente reservados transplantao de rgos, tm sido ensaiados
na DII, com resultados promissores. Finalmente, os avanos na tecnologia da enge-
nharia molecular, tm conduzido ao advento de uma nova classe de teraputicas bio-
lgicas, que podero ser muito teis em certos sub-grupos de doentes.
A teraputica da DII engloba a abordagem dos seguintes tpicos: teraputica farma-
colgica, suporte nutricional e sintomtico, e teraputica cirrgica.
A. TRATAMENTO FARMACOLGICO
Utilizam-se actualmente no tratamento da DII os seguintes frmacos:
Aminosalicilatos
Corticides
Imunomoduladores e imunosupressores
Antibiticos
Novas teraputicas emergentes
A1. Aminosalicilatos
No quadro seguinte, apresentam-se os aminosalicilatos actualmente disponveis, em
termos de preparao, formulao, local de libertao e posologia:
COMENTRIOS
Permanece pouco claro o mecanismo de aco da sulfasalazina e dos compostos dele
derivados (5-ASA). Inibem a cascata do cido araquidnico e a produo de radicais
livres de oxignio. Por outro lado, inibem a funo dos linfcitos e dos moncitos,
assim como a produo de imunoglobulinas. Mais recentemente, apurou-se que a sul-
fasalazina inibe a produo de IL-1 e do factor nuclear NFkB.
A sulfasalazina tem mais efeitos secundrios do que os seus derivados 5-ASA, pelo
Doenas do Aparelho Digestivo
374
que estes so mais frequentemente prescritos.
A experincia clnica tem demonstrado a eficcia da sulfasalazina ou dos compostos
5-ASA nas formas ligeiras e moderadamente activas de colite ulcerosa, com taxas de
resposta de 64-80%, consoante as sries, administrando as posologias indicadas no
quadro.
As formulaes rectais de mesalamina so muito eficazes no tratamento da colite dis-
tal. Os supositrios alcanam os ltimos 15-20 cm da mucosa rectal, e os clisteres
atingem a flexura esplnica. No mbito da colite distal, a associao de mesalamina
oral e tpica parece ser vantajosa.
Na colite ulcerosa severa, os aminosalicilatos no so eficazes como agentes nicos,
no sendo recomendados at estabilizao da situao com corticides.
Uma das grandes indicaes dos aminosalicilatos, o tratamento de manuteno da
colite ulcerosa, no sentido de prevenir recorrncias. Ainda no existe consenso quan-
to dose ptima de manuteno. A sulfasalazina tem sido progressivamente subs-
tituda pelos derivados 5-ASA, pelos seus efeitos secundrios.
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
375
AMINOSALICILATOS NA DII
Preparao Formulao Libertao Posologia
Agentes orais
Ligao Azo
Sulfasalazina (500 mgr) Sulfapiridina 5-ASA* Clon 3-6 gr/dia (fase aguda)
Olsalazina (250 mgr) 5-ASA = 5-ASA Clon 1-3 gr/dia
Balsalazida (750 mgr) Aminobenzoil-alanina Clon 6 gr/dia
+ 5-ASA
Libertao retardada
Mesalamina 2.44.8 gr/d (aguda)
Asacol, 400 e 800 mgr Eudragit S (pH7) Ileo distal/clon 0.84.8 gr/d (manut.)
1.5-3 gr/d (aguda)
Salofalk, Claversal, 250 e 500 mgr Eudragit L (pH6) Ileo-clon 0.75-3 gr/d (manut.)
Libertao sustentada
Mesalamina 24 gr/d (aguda)
Pentasa, 250, 500, 1000 mgr Etilcelulose (grnulos) Estmago-clon 1.54 gr/d (manut.)
Agentes rectais
Mesalamina supositrios Recto 11.5 gr/d (aguda)
(400, 500, 1000 mgr) 0.51 gr/d (manut.)
Mesalamina enema (1, 4 gr) Suspenso de 60 e Recto-flexura 14 gr/d (aguda)
100 m esplnica 1 gr/d 3 vezes por
semana (manut.)
* 5-ASA 5-aminosalicylic acid
Na doena de Crohn, a eficcia da sulfasalazina menos evidente do que na colite
ulcerosa, quer na fase aguda, quer na manuteno. Pelo contrrio, h alguma evidn-
cia do benefcio das formulaes 5-ASA, apesar da heterogeneidade da doena, tanto
na fase aguda como na teraputica de manuteno, se bem que sejam inconsistentes
os resultados em termos de preveno de recorrncias. No entanto, a mesalamina evi-
dencia indiscutvel benefcio na profilaxia de recidivas aps interveno cirrgica.
A2. Corticides
Os corticosterides representam o suporte principal da teraputica aguda das formas
moderadas, severas e fulminantes de colite ulcerosa e das formas activas moderadas
a severas da doena de Crohn. So ineficazes na manuteno da remisso, quer na
colite ulcerosa, quer no Morbus Crohn.
Os corticosterides orais sistmicos, designadamente a prednisona e a prednisolona,
em administrao diria, com posologias entre 20-60 mgr, so eficazes no tratamen-
to de formas moderadamente severas de colite ulcerosa. No entanto, no so efecti-
vos nem esto indicados na preveno de recidivas.
Os corticosterides parenterais so indispensveis no tratamento de doentes hospita-
lizados com formas severas ou fulminantes de colite ulcerosa. No existe evidncia de
dose-resposta para doses de metilprednisolona superiores a 48 mgr/dia.
Na doena de Crohn, os corticosterides sistmicos so eficazes nas formas agudas
moderadas a severas. As doses recomendadas variam, sendo de sublinhar os bons
resultados do European Cooperative Crohns Disease Study, que utilizou a metilpred-
nisolona na dose inicial de 48 mgr por dia, a qual foi reduzida paulatinamente at 12
mgr durante um perodo de 6 semanas. No est demonstrado o benefcio da corti-
coterpia no tratamento de manuteno. Os esterides parenterais teriam, na doena
de Crohn, uma eficcia semelhante observada na colite ulcerosa.
Alm dos corticosterides sistmicos, utilizam-se tambm actualmente formulaes
tpicas e esterides no sistmicos.
No tocante aos preparados de aco tpica supositrios, espumas ou enemas -, so
teis no tratamento da proctite ulcerosa ou de colites at flexura esplnica. Alm
de terem um papel definitivo no tratamento da colite ulcerosa distal, os esterides
tpicos tm sido associados aos corticosterides parenterais nas formas severas de
colite ulcerosa.
Os chamados esterides no sistmicos, so glucocorticides anti-inflamatrios, com
menor actividade sistmica do que os corticides tradicionais. Um deles, o budenosi-
do, numa formulao oral de libertao retardada, evidenciou eficcia superior ao pla-
Doenas do Aparelho Digestivo
376
cebo e muito prxima da prednisolona sistmica no tratamento da doena de Crohn
ileo-cecal. No entanto, em doses baixas no revelou benefcio na preveno de reci-
divas desta doena.
A3. Imunosupressores e imunomoduladores
So utilizados actualmente na DII os seguintes agentes imunosupressores e imuno-
moduladores:
- Anlogos da purina (6-MP / Azatioprina)
- Metotrexato
- Ciclosporina /Tacrolimus
- Infliximab (anti-TNF-)
Anlogos da purina
A azatioprina e a 6-mercaptopurina (6-MP) tm sido utilizadas no tratamento da DII
desde h 25 anos. A azatioprina rapidamente absorvida e convertida em 6-MP. Estes
agentes provavelmente alteram a resposta imunolgica atravs da inibio da activi-
dade das killer clulas naturais e da supresso da funo das clulas T. Dado o seu
lento incio de aco, estes frmacos esto melhor posicionados na teraputica de
manuteno do que na teraputica de induo.
Os anlogos da purina so geralmente bem tolerados. A pancreatite pode ocorrer em
3-15% dos doentes tratados, usualmente dentro das primeiras semanas de tratamen-
to, mas resolve-se rapidamente com a suspenso do frmaco. Outras potenciais com-
plicaes: nusea, febre, rash, hepatite, leucopenia. H consenso quanto sua utili-
dade e inocuidade durante a gravidez.
Na doena de Crohn, estes agentes no tm indicao na fase aguda severa, porque
o tempo de induo teraputica de cerca de 3 meses. Esto indicados na doena
activa crnica, particularmente em doentes esteride-dependentes. Manifestam algu-
ma eficcia nas fstulas perianais. Tm eficcia comprovada na preveno de recorrn-
cias aps teraputica aguda mdica ou cirrgica.
Na colite ulcerosa, a utilizao similar da doena de Crohn, embora a eficcia no
esteja to bem estabelecida. Utilizam-se mais frequentemente nas formas de proctite
crnica activa/recorrente.
A dose inicial de azatioprina de 100 mgr/dia (1-2.5 mgr/kg/dia), e a de 6-M de 50
mgr/dia (1.5 mgr/kg/dia).
Metotrexato
Inibe a dihidrofolato-redutase, de que resulta diminuio da sntese de DNA. Tem pro-
priedades anti-inflamatrias provavelmente relacionadas com a inibio da produo
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
377
de IL-1.
preferentemente administrado por via parenteral, sendo geralmente bem tolerado.
Citam-se algumas reaces secundrias, raras: supresso medular, fibrose heptica e
pneumonite. No pode ser utilizado na mulher grvida.
Na doena de Crohn, eficaz na dose de 25 mgr intramuscular por semana, nas for-
mas crnicas activas, incluindo doentes dependentes da corticoterpia. No est esta-
belecida a sua eficcia na colite ulcerosa.
Micofenolato
O micofenolato de mofetil um imunosupressor correntemente utilizado na translan-
tao de rgos.
Na dose usual de 15 mgr/dia, bem tolerado, ainda que possam ocorrer efeitos secun-
drios: diarreia, vmitos, leucopenia e infeces oportunistas. Em animais, terato-
gnico.
Na doena de Crohn, aparentemente to eficaz quanto a azatioprina. Pode ser uma
opo para os doentes intolerantes aos anlogos da purina e ao metotrexato. Ainda
no foi estudada a sua eficcia a longo prazo. Na colite ulcerosa ainda no h dados
sobre a sua utilidade clnica.
Ciclosporina
um potente inibidor das clulas T, via inibio da IL-2. Tem um efeito de aco muito
mais rpido do que os anlogos da purina.
Tem efeitos secundrios: insuficincia renal, neurotoxicidade, hepatotoxicidade, hiper-
tenso arterial, desequilbrio electroltico.
Na doena de Crohn, a evidncia quanto sua eficcia dbia. Estudos controlados
no comprovam a sua utilidade por via oral. Em estudos no controlados, reclama-se
a sua eficcia por via endovenosa. No esto ainda disponveis resultados com o
tacrolimus (FK 506).
Na colite ulcerosa, a principal indicao a forma aguda severa no controlada por
corticoterpia, como ponte para outras teraputicas, imunosupressoras e/ou cirurgia.
um frmaco no recomendado em tratamento de manuteno, em face da sua toxi-
cidade.
Infliximab (anti-TNF-)
Trata-se de um anticorpo monoclonal dirigido contra o TNF- humano, potente citoci-
na pr-inflamatria produzida pelos macrfagos e linfcitos T.
A tolerncia deste agente em geral boa, a curto prazo, sendo incerta a sua toxici-
dade a longo prazo.
Na doena de Crohn, revelou-se eficaz e bem tolerado no tratamento das formas agu-
das e sub-agudas, bem como nas fstulas enterocutneas. Aguardam-se resultados no
mbito da teraputica de manuteno, parecendo que infuses repetidas so eficazes
Doenas do Aparelho Digestivo
378
e incuas. Postula-se, actualmente, que um frmaco apropriado para servir de ponte
para imunosupressores de actuao mais lenta, nomeadamente os anlogos da puri-
na e o metotrexato. Na colite ulcerosa ainda no existe evidncia convincente quan-
to sua eficcia, embora se pense que possa ter um efeito promissor nas formas
severas/fulminantes.
ministrado em perfuso endovenosa, na dose de 5 mgr/kg, reconstituda com soro
fisiolgico. No Morbus Crohn activo e severo, o esquema teraputico comporta uma
infuso nica; nas formas fistulizantes, ministram-se trs perfuses, s 0, 2 e 6 sema-
nas. A durao media de remisso curta (8-12 semanas), e este tratamento deve ser
associado a teraputica de manuteno com AZA/6 MP ou metotrexato.
A4. Antibiticos
Embora os agentes microbianos tenham sido repetidamente implicados como estimu-
ladores da inflamao na DII, nunca foi identificado um agente etiolgico especfico.
No entanto, a teraputica antibitica tem sido utilizada em vrios cenrios clnicos da
DII.
A maioria dos estudos controlados no evidenciaram efeitos benficos da antibiote-
rpia na colite ulcerosa activa, ou na teraputica de manuteno.
Nas situaes de colite fulminante e megaclon txico, muitos centros continuam a
advogar antibiticos de largo espectro, como componentes da teraputica intraveno-
sa intensiva, para potencial profilaxia pr-operatria.
A pouchitis que ocorre em cerca de 50% dos doentes com colite ulcerosa submeti-
dos a colectomia com bolsa ileo-anal, responde usualmente teraputica com metro-
nidazole ou ciprofloxacina.
Na doena de Crohn, o metronidazole, na dose de 20 mgr/kg/dia tem uma eficcia
superior ao placebo. Tem igualmente efeito benfico no Crohn peri-anal. Por outro
lado, postula-se a sua utilidade na profilaxia de recidivas ps-operatrias. Pode ter
efeitos secundrios: nuseas, sabor metlico, e reaces tipo disulfuram. Em adminis-
trao prolongada pode originar neuropatias perifricas.
A ciprofloxacina tem vindo a assumir-se como alternativa ao metronidazole na doen-
a de Crohn, com uma eficcia no inferior da mesalamina. Tambm benfica no
tratamento da doena de Crohn fistulizante e perianal, isolada ou em combinao com
o metronidazole.
A5. Novas teraputicas emergentes
So vrias as linhas de investigao farmacolgica com vista identificao e utiliza-
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
379
o de novos agentes no mbito da DII. A expectativa grande quanto ao advento
de novas propostas de abordagem teraputica. Limitamo-nos, neste item, a enumerar
as reas que tm vindo a ser objecto de estudo e ensaio:
Manipulao da flora bacteriana intestinal
Antibioterpia
Probiticos e prebiticos
Citocinas pr-inflamatrias
Anticorpos ant-CD4
Anti-TNF
Anti-NF-kB
Citocinas anti-inflamatrias
Interleucina-10
Interleucina-11
Neuroimunomodulao
Somatostatina
Octretido e valpretido
Substncia P
Anestsicos locais (enemas de lidocana gel e ropivacana)
Mediadores no especficos da inflamao
Metabolitos do cido araquidnico
Teraputica antioxidante
Miscelnia
cidos gordos de cadeia curta
Nicotina
Bismuto
Heparina
Cloroquina
Oxignio hiperbrico
Talidomida
Aps a descrio das vrias alternativas de teraputica farmacolgica actualmente dis-
ponveis, julgamos ser oportuno apresentar, em dois quadros, as propostas terapu-
ticas mais pertinentes, na doena de Crohn e na colite ulcerosa, em funo dos
padres clnicos em causa:
B- TRATAMENTO DE SUPORTE
Eventualmente pode haver necessidade de administrao de certos frmacos para al-
vio dos sintomas:
Antiespasmdicos e anticolinrgicos (no devem ser utilizados em formas severas,
dada a possibilidade de induzirem megaclon txico);
Anti-diarreicos: loperamida, difenoxilato em formas severas/fulminantes pelo risco
de megaclon txico;
Doenas do Aparelho Digestivo
380
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
381
TRATAMENTO FARMACOLGICO DA DOENA DE CROHN
Doena Activa
Forma ligeira-moderada * Forma perinal ou fistulizante
5-ASA oral ou sulfasalazina * Metronidazole e/ou ciprofloxacina
Metronidazole Azatioprina ou 6-MP
Prednisolona ** Infliximab
Azatioprina ou 6-MP *** Ciclosporina endovenosa
Infliximab
Teraputica de Manuteno
Forma severa
Prednisolona 5-ASA ou sulfasalazina
Corticides endovenosos Metronidazole
Infliximab Azatioprina ou 6-MP
Ciclosporina endovenosa ****
* Seleccionar o agente em funo da localizao da doena
** Iniciar quando h ineficcia dos aminosalicilatos
*** Nos doentes esteride-dependentes ou resistentes
**** Reservado aos doentes que no respondem corticoterapia, ou aos que apresentam doena fistulosa ou perianal
severa.
TRATAMENTO FARMACOLGICO DA COLITE ULCEROSA
Doena Activa
Forma ligeira-moderada * Forma severa-fulminante
Colite distal Colite distal ou extensa
5-ASA oral ou sulfasalazina (oral ou tpica)* Corticoterpia endovenosa
Corticoterpia tpica ** Ciclosporina endovenosa
Colite extensa
5-ASA ou sulfasalazina Teraputica de Manuteno
Colite distal
Forma moderada-severa 5-ASA ou sulfasalazina (oral ou tpica)*
Colite distal Azatioprina ou 6-MP ****
5-ASA tpico ou oral Colite extensa
Corticoterpia tpica ** 5-ASA ou sulfasalazina
Prednisolona Azatioprina ou 6-MP ****
Colite extensa
Prednisolona
* 5-ASA tpico isolado ou combinado com formulao oral ou sulfasalazina
** Isoladamente ou em combinao com 5-ASA oral
*** Quando falha a corticoterpia endovenosa
**** Em doentes esteride-dependentes ou resistentes corticoterpia
Psicofrmacos (usualmente aps consulta psiquitrica);
As artralgias no devem ser tratadas com AINEs, porque podem induzir exacerba-
o da doena. Preferir o acetaminofeno;
Profilaxia da desmineralizao ssea cortisnica pela administrao de ciclos de 12
semanas, durante 1 ano, de um difosfonato (2 semanas) + clcio (10 semanas);
Tratar a anemia com suplementos marciais (via oral ou parenteral), ou administran-
do eritropoietina s.c.
C TERAPUTICA NUTRICIONAL
O estado nutricional dos doentes com DII pode estar bastante afectado, por razes
vrias. A alimentao artificial enteral ou parenteral pode constituir um componente
valioso no tratamento.
Nas formas activas de doena de Crohn, o repouso do intestino com nutrio enteral
ou parenteral favorece o processo. De acordo com alguns estudos, o repouso intesti-
nal e a alimentao parenteral seriam to eficazes quanto a corticoterpia na remis-
so da fase aguda, embora esses benefcios sejam de curta durao. Em alternativa,
a alimentao enteral com dietas elementares seria igualmente benfico. No entanto,
ainda que benfica nas formas activas de Crohn, a alimentao artificial no tem uti-
lidade como tratamento de manuteno para evitar recidivas.
Ao contrrio da doena de Crohn, a colite ulcerosa activa no eficazmente tratada
com dietas elementares ou formulaes parenterais. Os cidos gordos de cadeia curta,
em aplicao tpica, podem ter algum efeito benfico.
D INDICAES CIRRGICAS
D1. Colite ulcerosa
Cerca de 50% dos doentes com colite ulcerosa crnica so submetidos a cirurgia nos
primeiros 10 anos da doena, dada a natureza crnica do processo e a tendncia para
recidivas.
Constituem indicao para interveno cirrgica na colite ulcerosa:
Intratabilidade mdica (a indicao mais comum)
Doenas do Aparelho Digestivo
382
Manifestaes extra-intestinais
Profilaxia do cancro
Emergncias cirrgicas:
Hemorragia massiva
Megaclon txico
Colite fulminante refractria corticoterpia
Obstruo aguda por estenose
Suspeita ou evidncia de cancro do clon
D2. Doena de Crohn
A maioria dos doentes com Morbus Crohn requerem pelo menos uma interveno
cirrgica ao longo da vida.
As indicaes para cirurgia na doena de Crohn so:
Obstruo intestinal (indicao mais comum), originada por fibrose e estenose. A
interveno consiste em resseco do segmento estenosado ou na tcnica de
stricturoplastia. Num caso ou noutro, cerca de 25% dos doentes operados apre-
sentam recorrncia do processo no local da interveno, ao cabo de 5 anos, haven-
do necessidade de reoperar.
Na colite de Crohn, as indicaes cirrgicas resultam sobretudo de intratabilidade
mdica, doena fulminante ou doena anorectal.
Outras potenciais indicaes cirrgicas: complicaes purulentas (por ex. abcesso),
hemorragia intratvel, manifestaes extra-intestinais.
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
383
Doenas do Aparelho Digestivo
384
REFERNCIAS
Allison MC, Dhillon AP, Lewis WG, Pounder RE (Eds.) Inflammatory Bowel Disease. Mosb Int. 1998.
Hanauer S. Therapy for Inflammatory Bowel Disease. In: Wolfe MM (Ed.) Therapy of Digestive Disorders. WB Saunders Co 2000:565-590.
Peppercorn MA (Ed.). Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterol Clinics N Am 1995;4(3).
Tavarela Veloso F. Doena Inflamatria Intestinal. Da investigao bsica clnica. Ed. Bial, Porto, 1997.
Tavarela Veloso F (Ed.). Doena Inflamatria Intestinal. Permanyer Portugal, 1996.
Monteiro E, Tavarela Veloso F (Eds.). Inflammatory Bowel Disease. Dordrecht. Kluwer 1995.
Tavarela Veloso F. Doena inflamatria intestinal. Opes teraputicas actuais e futuras. In: Tavarela Veloso F (Ed.).
Coloproctologia 2000. Socied. Portuguesa Coloproct. 2000:51-56.
Portela F, Alves V, Baldaia C, Santos Rosa M, Freitas D. Citocinas intracelulares e fenotipagem dos linfcitos circulantes na doena
inflamatria intestinal. In: Tavarela Veloso F (Ed.). Coloproctologia 2000:173-184.
Figueiredo A, Sousa LS. Doenas inflamatrias intestinais idiopticas: epidemiologia, etiopatogenia, clnica e complicaes intestinais e
extra-intestinais. GE J Port Gastrenterol 1996;3(4):303-311 e 1997;4(1):17-27.
Beutler B. Autoimmunity and apoptosis: the Crohns connection. Immunity. 2001 Jul;15(1):5-14.
Sandborn WJ. Cyclosporine in ulcerative colitis: state of the art. Acta Gastroenterol Belg. 2001 Apr-Jun;64(2):201-4.
Geboes K. Crohns disease, ulcerative colitis or indeterminate colitishow important is it to differentiate?
Acta Gastroenterol Belg. 2001 Apr-Jun;64(2):197-200.
Feagan BG. Standard immunosuppression in IBD: current practice. Acta Gastroenterol Belg. 2001 Apr-Jun;64(2):182-8.
van Deventer SJ. Biological therapies of inflammatory bowel disease. Acta Gastroenterol Belg. 2001 Apr-Jun;64(2):177-81.
DHaens GR. Tissue effects of anti-TNF therapies. Acta Gastroenterol Belg. 2001 Apr-Jun;64(2):173-6.
Sandborn WJ. Strategies targeting tumor necrosis factor in Crohns disease. Acta Gastroenterol Belg. 2001 Apr-Jun;64(2):170-2.
van Heel DA, Jewell DP. Genetics of inflammatory bowel disease-an update. Acta Gastroenterol Belg. 2001 Apr-Jun;64(2):160-4.
Blam ME, Stein RB, Lichtenstein GR. Integrating anti-tumor necrosis factor therapy in inflammatory bowel disease: current and future
perspectives. Am J Gastroenterol. 2001 Jul;96(7):1977-97.
Hartmann F. Follow-up control in chronic inflammatory bowel diseasecomplications, sequelae and cancer risk. Dtsch Med Wochenschr.
2001 Jun 1;126 Suppl 1:S59-63.
Wittig BM, Zeitz M. Cytokine and anti-cytokine therapy in chronic inflammatory bowel diseases. Dtsch Med Wochenschr.
2001 Jun 1;126 Suppl 1:S52-8.
Rutgeerts PJ. Review article: The limitations of corticosteroid therapy in Crohns disease. Alim Pharm & Therap 2001;15(10):1515-1526.
Nielsen OH, Vainer D & Rask-Madsen. Rewiew article: the treatment of inflammatory bowel disease with 6-mercaptopurine or azathioprine.
Alim Pharm & Therap 2001;15(11):1699-1708.
Lindsay JO, & Hodgson JF. Review article: the immunoregulatory cytokine interleukin-10-a therapy for Crohns disease? Alim Pharm &
Therap 2001; 15(11):1709-1716.
Scholmerich J. Is there any step-wise treatment of chronic inflammatory intestinal disease?
Dtsch Med Wochenschr. 2001 Jun 1;126 Suppl 1:S44-51
Desreumaux P. New inflammatory bowel disease drugs targeting the inflammatory cascade.
Gastroenterol Clin Biol. 2001 Apr;25(4 Suppl):B72-8.
Bonapace ES, Srinivasan R. Simultaneous occurrence of inflammatory bowel disease and thyroid disease.
Am J Gastroenterol. 2001 Jun;96(6):1925-6.
Sandborn WJ. Transcending conventional therapies: the role of biologic and other novel therapies. Inflamm Bowel Dis.
2001 May;7 Suppl 1:S9-16.
Sninsky CA. Altering the natural history of Crohns disease? Inflamm Bowel Dis. 2001 May;7 Suppl 1:S34-9.
Lichtenstein GR. Approach to corticosteroid-dependent and corticosteroid-refractory Crohns disease. Inflamm Bowel Dis.
2001 May;7 Suppl 1:S23-9.
Rutgeerts PJ. Conventional treatment of Crohns disease: objectives and outcomes. Inflamm Bowel Dis. 2001 May;7 Suppl 1:S2-8.
OSullivan M, OMorain C. Liquid diets for Crohns disease. Gut. 2001 Jun;48(6):757.
Ghosh S, Armitage E, Wilson D, Minor PD, Afzal MA. Detection of persistent measles virus infection in Crohns disease: current status of
experimental work. Gut. 2001 Jun;48(6):748-52.
Torok N, Gores GJ. Cholangiocarcinoma. Semin Gastrointest Dis. 2001 Apr;12(2):125-32.
Michell NP, Lalor P, Langman MJ. Heparin therapy for ulcerative colitis? Effects and mechanisms. Eur J Gastroenterol Hepatol.
2001 Apr;13(4):449-56.
Colombel JF, Cortot A, van Kruiningen HJ. Antibiotics in Crohns disease. Gut. 2001 May;48(5):647.
Oldenburg B, Koningsberger JC, Van Berge Henegouwen GP, Van Asbeck BS, Marx JJ. Iron and inflammatory bowel disease.
Aliment Pharmacol Ther. 2001 Apr;15(4):429-38.
Hanauer SB, Sandborn W. Management of Crohns disease in adults. Am J Gastroenterol. 2001 Mar;96(3):635-43.
Helper DJ, Rex DK. Inflammatory bowel disease. Endoscopy. 2001 Feb;33(2):140-6.
Nugent SG, Kumar D, Rampton DS, Evans DF. Intestinal luminal pH in inflammatory bowel disease: possible determinants and implications
for therapy with aminosalicylates and other drugs. Gut. 2001 Apr;48(4):571-7.
Robertson DJ, Sandler RS. Measles virus and Crohns disease: a critical appraisal of the current literature. Inflamm Bowel Dis.
2001 Feb;7(1):51-7.
Ouellette AJ, Bevins CL. Paneth cell defensins and innate immunity of the small bowel. Inflamm Bowel Dis. 2001 Feb;7(1):43-50.
Irvine EJ, Farrokhyar F, Swarbrick ET. A critical review of epidemiological studies in inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol.
2001 Jan;36(1):2-15.
Stein RB, Lichtenstein GR. Medical therapy for Crohns disease: the state of the art. Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):71-101.
Rubesin SE, Scotiniotis I, Birnbaum BA, Ginsberg GG. Radiologic and endoscopic diagnosis of Crohns disease. Surg Clin North Am.
2001 Feb;81(1):39-70.
Church JM. Molecular genetics and Crohns disease. Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):31-8.
Ringel Y, Drossman DA. Psychosocial aspects of Crohns disease. Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):231-52.
McClane SJ, Rombeau JL. Anorectal Crohns disease. Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):169-83.
Guy TS, Williams NN, Rosato EF. Crohns disease of the colon. Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):159-68.
Delaney CP, Fazio VW. Crohns disease of the small bowel. Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):137-58.
Kleer CG, Appelman HD. Surgical pathology of Crohns disease. Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):13-30.
Reynolds HL Jr, Stellato TA. Crohns disease of the foregut. Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):117-35.
Song HK, Buzby GP. Nutritional support for Crohns disease. Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):103-15.
Chamberlin W, Graham DY, Hulten K, El-Zimaity HM, Schwartz MR, Naser S, Shafran I, El-Zaatari FA. Review article: Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis as one cause of Crohns disease. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Mar;15(3):337-46.
Shanahan F. Inflammatory bowel disease: immunodiagnostics, immunotherapeutics, and ecotherapeutics.
Gastroenterology. 2001 Feb;120(3):622-35.
Mitsuyama K, Suzuki A, Tomiyasu N, Takaki K, Toyonaga A, Sata M. Transcription factor-targeted therapies in inflammatory bowel disease.
Digestion. 2001;63 Suppl 1:68-72.
Okabe N. The pathogenesis of Crohns disease. Digestion. 2001;63 Suppl 1:52-9.
Matsumoto T, Nakamura S, Jin-No Y, Sawa Y, Hara J, Oshitani N, Arakawa T, Otani H, Nagura H. Role of granuloma in the immunopatho-
genesis of Crohns disease. Digestion. 2001;63 Suppl 1:43-7.
Hayashi T, Ishida T, Motoya S, Itoh F, Takahashi T, Hinoda Y, Imai K. Mucins and immune reactions to mucins in ulcerative colitis.
Digestion. 2001;63 Suppl 1:28-31.
Nagura H, Ohtani H, Sasano H, Matsumoto T. The immuno-inflammatory mechanism for tissue injury in inflammatory bowel disease and
Helicobacter pylori-infected chronic active gastritis. Roles of the mucosal immune system. Digestion. 2001;63 Suppl 1:12-21.
Kweon M, Takahashi I, Kiyono H. New insights into mechanism of inflammatory and allergic diseases in mucosal tissues.
Digestion. 2001;63 Suppl 1:1-11.
Jayaram H, Satsangi J, Chapman RW. Increased colorectal neoplasia in chronic ulcerative colitis complicated by primary sclerosing
cholangitis: fact or fiction? Gut. 2001 Mar;48(3):430-4.
Sutherland LR. Prevention of relapse of Crohns disease. Inflamm Bowel Dis. 2000 Nov;6(4):321-8.
Peeters M, Cortot A, Vermeire S, Colombel JF. Familial and sporadic inflammatory bowel disease: different entities? Inflamm Bowel Dis.
2000 Nov;6(4):314-20.
Papadakis KA, Targan SR. The role of chemokines and chemokine receptors in mucosal inflammation. Inflamm Bowel Dis.
2000 Nov;6(4):303-13.
Regueiro MD. Update in medical treatment of Crohns disease. J Clin Gastroenterol. 2000 Dec;31(4):282-91.
Monteleone G, MacDonald TT. Manipulation of cytokines in the management of patients with inflammatory bowel disease. Ann Med. 2000
Nov;32(8):552-60.
Campieri M, Gionchetti P. Bacteria as the cause of ulcerative colitis. Gut. 2001 Jan;48(1):132-5.
Vogelsang H, Granditsch G, Binder C, Herbst F, Moser G, Petritsch W, Knoflach P. Consensus of the Chronic Inflammatory Bowl Disease
Study Group of the Austrian Society of Gastroenterology and Hepatology on the topic of diagnosis and therapy of chronic inflammatory
bowel diseases in adolescence. Z Gastroenterol. 2000 Sep;38(9):791-4.
Papa A, Danese S, Gasbarrini A, Gasbarrini G. Review article: potential therapeutic applications and mechanisms of action of heparin in
inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2000 Nov;14(11):1403-9.
Su CG, Stein RB, Lewis JD, Lichtenstein GR. Azathioprine or 6-mercaptopurine for inflammatory bowel disease: do risks outweigh benefits?
Dig Liver Dis. 2000 Aug-Sep;32(6):518-31.
Eaden JA, Mayberry JF. Colorectal cancer complicating ulcerative colitis: a review. Am J Gastroenterol. 2000 Oct;95(10):2710-9.
Seidman EG. 6-Mercaptopurine in maintaining remission in Crohns disease: An old friend becomes a new hero. Gastroenterology.
2000 Oct;119(4):1158-60.
Papadakis KA, Targan SR. Tumor necrosis factor: biology and therapeutic inhibitors. Gastroenterology. 2000 Oct;119(4):1148-57.
Lichtenstein GR. Treatment of fistulizing Crohns disease. Gastroenterology. 2000 Oct;119(4):1132-47.
Bernstein CN, Riddell RH. Colonoscopy plus biopsy in the inflammatory bowel diseases. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2000 Oct;10(4):755-74.
Stotland BR, Stein RB, Lichtenstein GR. Advances in inflammatory bowel disease. Med Clin North Am. 2000 Sep;84(5):1107-24.
Souney PF. Algorithm for the treatment of Crohns disease: incorporation of emerging therapies. Am J Gastroenterol. 2000 Sep;95(9):2381-3.
Moum B. Chronic inflammatory bowel disease and pregnancy. Scand J Gastroenterol. 2000 Jul;35(7):673-8.
Blomberg B, Jarnerot G. Clinical evaluation and management of acute severe colitis. Inflamm Bowel Dis. 2000 Aug;6(3):214-27.
Levine AD. Apoptosis: implications for inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2000 Aug;6(3):191-205.
Rubin DT, Hanauer SB. Smoking and inflammatory bowel disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Aug;12(8):855-62.
OBrien J. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8):1859-61.
Marshall JK, Irvine EJ. Putting rectal 5-aminosalicylic acid in its place: the role in distal ulcerative colitis.
Am J Gastroenterol. 2000 Jul;95(7):1628-36.
Lombardi G, Annese V, Piepoli A, Bovio P, Latiano A, Napolitano G, Perri F, Conoscitore P, Andriulli A. Antineutrophil cytoplasmic antibodies
in inflammatory bowel disease: clinical role and review of the literature. Dis Colon Rectum. 2000 Jul;43(7):999-1007.
Carbonnel F, Cosnes J. Diet therapy in chronic inflammatory intestinal diseases: current status and perspectives.
Gastroenterol Clin Biol. 1999 Jun;23(5 Pt 2):B195-9.
Bulois P, Lederman E, Desreumaux P, Cortot A, Colombel JF. Role of antibiotics in Crohns disease.
Gastroenterol Clin Biol. 1999 Jun;23(5 Pt 2):B189-94.
Lemann M. Use of immunosuppressors in chronic inflammatory intestinal diseases. Gastroenterol Clin Biol. 1999 Jun;23(5 Pt 2):B178-88.
Modigliani R. Corticoids in intestinal inflammatory diseases: use. Gastroenterol Clin Biol. 1999 Jun;23(5 Pt 2):B169-77.
Desreumaux P, Meresse B, Cortot A, Colombel JF. Cytokines and anti-cytokines in chronic inflammatory intestinal diseases. Gastroenterol
Clin Biol. 1999 Jun;23(5 Pt 2):B159-68.
Cattan S, Beaugerie L. Endoscopy of chronic inflammatory intestinal diseases: importance for surveillance. Gastroenterol Clin Biol. 1999
Jun;23(5 Pt 2):B152-8.
Petronis A, Petroniene R. Epigenetics of inflammatory bowel disease. Gut. 2000 Aug;47(2):302-6.
Wakefield AJ, Montgomery SM. Measles virus as a risk for inflammatory bowel disease: an unusually tolerant approach.
Am J Gastroenterol. 2000 Jun;95(6):1389-92.
Elson CO. Commensal bacteria as targets in Crohns disease. Gastroenterology. 2000 Jul;119(1):254-7.
Korzenik JR, Dieckgraefe BK. Is Crohns disease an immunodeficiency? A hypothesis suggesting possible early events in the pathogenesis
of Crohns disease. Dig Dis Sci. 2000 Jun;45(6):1121-9.
Sands BE. Therapy of inflammatory bowel disease. Gastroenterology. 2000 Feb;118(2 Suppl 1):S68-82.
Shanahan F. Probiotics and inflammatory bowel disease: is there a scientific rationale? Inflamm Bowel Dis. 2000 May;6(2):107-15.
Achkar JP, Hanauer SB. Medical therapy to reduce postoperative Crohns disease recurrence. Am J Gastroenterol. 2000 May;95(5):1139-46.
Clemett D, Markham A. Prolonged-release mesalazine: a review of its therapeutic potential in ulcerative colitis and Crohns disease.
Drugs. 2000 Apr;59(4):929-56.
Bell SJ, Kamm MA. Review article: the clinical role of anti-TNFalpha antibody treatment in Crohns disease. Aliment Pharmacol
Ther. 2000 May;14(5):501-14.
INTESTINO - Doena Inflamatria Intestinal
385
Ghosh S, Shand A, Ferguson A. Ulcerative colitis. BMJ. 2000 Apr 22;320(7242):1119-23.
Carpenter HA, Talley NJ. The importance of clinicopathological correlation in the diagnosis of inflammatory conditions of the colon:
histological patterns with clinical implications. Am J Gastroenterol. 2000 Apr;95(4):878-96.
Hulten K, Almashhrawi A, El-Zaatari FA, Graham DY. Antibacterial therapy for Crohns disease: a review emphasizing therapy directed
against mycobacteria. Dig Dis Sci. 2000 Mar;45(3):445-56.
Krupnick AS, Morris JB. The long-term results of resection and multiple resections in Crohns disease. Semin Gastrointest
Dis. 2000 Jan;11(1):41-51.
Sonoda T, Fazio VW. Controversies in the construction of the ileal pouch anal anastomosis. Semin Gastrointest Dis. 2000 Jan;11(1):33-40.
Katz JA. Medical and surgical management of severe colitis. Semin Gastrointest Dis. 2000 Jan;11(1):18-32.
Hurst RD, Cohen RD. The role of laparoscopy and strictureplasty in the management of inflammatory bowel disease.
Semin Gastrointest Dis. 2000 Jan;11(1):10-7.
Stein RB, Lichtenstein GR. Complications after ileal pouch-anal anastomosis. Semin Gastrointest Dis. 2000 Jan;11(1):2-9.
Korelitz BI. The role of liquid diet in the management of small bowel Crohns disease. Inflamm Bowel Dis. 2000 Feb;6(1):66-7.
Present DH. How to do without steroids in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2000 Feb;6(1):48-57.
Bernstein CN, Blanchard JF. Viruses and inflammatory bowel disease: is there evidence for a causal association?
Inflamm Bowel Dis. 2000 Feb;6(1):34-9.
Mahida YR. The key role of macrophages in the immunopathogenesis of inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2000 Feb;6(1):21-33.
Marteau P. Inflammatory bowel disease. Endoscopy. 2000 Feb;32(2):131-7.
Casati J, Toner BB, de Rooy EC, Drossman DA, Maunder RG. Concerns of patients with inflammatory bowel disease: a review of emerging
themes. Dig Dis Sci. 2000 Jan;45(1):26-31.
Scholmerich J. Future developments in diagnosis and treatment of inflammatory bowel disease. Hepatogastroenterology.
2000 Jan-Feb;47(31):101-14.
Hoffmann JC, Zeitz M. Treatment of Crohns disease. Hepatogastroenterology. 2000 Jan-Feb;47(31):90-100.
Ludwig D, Stange EF. Treatment of ulcerative colitis. Hepatogastroenterology. 2000 Jan-Feb;47(31):83-9.
Nikolaus S, Folscn U, Schreiber S. Immunopharmacology of 5-aminosalicylic acid and of glucocorticoids in the therapy of inflammatory
bowel disease. Hepatogastroenterology. 2000 Jan-Feb;47(31):71-82.
Pohl C, Hombach A, Kruis W. Chronic inflammatory bowel disease and cancer. Hepatogastroenterology. 2000 Jan-Feb;47(31):57-70.
Gasche C. Complications of inflammatory bowel disease. Hepatogastroenterology. 2000 Jan-Feb;47(31):49-56.
Vermeire S, Peeters M, Rutgeerts P. Diagnostic approach to IBD. Hepatogastroenterology. 2000 Jan-Feb;47(31):44-8.
Andus T, Gross V. Etiology and pathophysiology of inflammatory bowel diseaseenvironmental factors. Hepatogastroenterology.
2000 Jan-Feb;47(31):29-43.
Schreiber S. Inflammatory bowel disease: immunologic concepts. Hepatogastroenterology. 2000 Jan-Feb;47(31):15-28.
Yang H, Rotter JI. The genetic background of inflammatory bowel disease. Hepatogastroenterology. 2000 Jan-Feb;47(31):5-14.
Nielsen OH, Vainer B, Madsen SM, Seidelin JB, Heegaard NH. Established and emerging biological activity markers of inflammatory bowel
disease. Am J Gastroenterol. 2000 Feb;95(2):359-67.
Regimbeau JM, Panis Y, De Parades V, Marteau P, Valleur P. Anoperineal manifestations of Crohns disease.
Gastroenterol Clin Biol. 2000 Jan;24(1):36-47.
McCafferty DM. Peroxynitrite and inflammatory bowel disease. Gut. 2000 Mar;46(3):436-9.
Sutherland LR. Mesalamine for the prevention of postoperative recurrence: is nearly there the same as being there?
Gastroenterology. 2000 Feb;118(2):436-8.
Schultz M, Sartor RB. Probiotics and inflammatory bowel diseases. Am J Gastroenterol. 2000 Jan;95(1 Suppl):S19-21
Tromm A, Griga T, May B. Oral mesalazine for the treatment of Crohns disease: clinical efficacy with respect to pharmacokinetic properties.
Hepatogastroenterology. 1999 Nov-Dec;46(30):3124-35.
Present DH. Review article: the efficacy of infliximab in Crohns diseasehealing of fistulae. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Sep;13 Suppl 4:23-8.
Hanauer SB. Review article: safety of infliximab in clinical trials. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Sep;13 Suppl 4:16-22.
Rutgeerts PJ. Review article: efficacy of infliximab in Crohns diseaseinduction and maintenance of remission. Aliment Pharmacol Ther.
1999 Sep;13 Suppl 4:9-15.
van Deventer SJ. Review article: targeting TNF alpha as a key cytokine in the inflammatory processes of Crohns diseasethe mechanisms
of action of infliximab. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Sep;13 Suppl 4:3-8.
Geboes K, Desreumaux P, Jouret A, Ectors N, Rutgeerts P, Colombel JF. Histopathologic diagnosis of the activity of chronic inflammatory
bowel disease. Evaluation of the effect of drug treatment. Use of histological scores. Gastroenterol Clin Biol. 1999 Oct;23(10):1062-73.
Collins SM, Vallance B, Barbara G, Borgaonkar M. Putative inflammatory and immunological mechanisms in functional bowel disorders.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Oct;13(3):429-36.
Rubin PH. Adenomas in ulcerative colitis: endoscopic polypectomy or colectomy? Inflamm Bowel Dis. 1999 Nov;5(4):304-5.
DHaens G, Rutgeerts P. Postoperative recurrence of Crohns disease: pathophysiology and prevention.
Inflamm Bowel Dis. 1999 Nov;5(4):295-303.
Froehlich F, Larequi-Lauber T, Gonvers JJ, Dubois RW, Burnand B, Vader JP. 11. Appropriateness of colonoscopy:
inflammatory bowel disease. Endoscopy. 1999 Oct;31(8):647-53.
Lang KA, Peppercorn MA. Promising new agents for the treatment of inflammatory bowel disorders. Drugs R D. 1999 Mar;1(3):237-44.
Rachmilewitz D. On smoking, rats, and inflammatory bowel disease. Gastroenterology. 1999 Oct;117(4):1008-11.
Lamers CB, Griffioen G, van Hogezand RA, Veenendaal RA. Azathioprine: an update on clinical efficacy and safety in inflammatory bowel
disease. Scand J Gastroenterol Suppl. 1999;230:111-5.
van der Sluys Veer A, Biemond I, Verspaget HW, Lamers CB. Faecal parameters in the assessment of activity in inflammatory bowel disease.
Scand J Gastroenterol Suppl. 1999;230:106-10.
Geerling BJ, Stockbrugger RW, Brummer RJ. Nu trition and inflammatory bowel disease: an update.
Scand J Gastroenterol Suppl. 1999;230:95-105.
Ardizzone S, Bollani S, Manzionna G, Bianchi Porro G. Inflammatory bowel disease approaching the 3rd millennium: pathogenesis and
therapeutic implications? Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Jan;11(1):27-32.
Doenas do Aparelho Digestivo
386
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
387
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XVII
SNDROME DO CLON IRRITVEL
1. Introduo
2. Definio
3. Epidemiologia
4. Patofisiologia
5. Clnica
6. Manifestaes Extra-Clicas
7. Diagnstico Diferencial
8. Diagnstico
9. Tratamento
10. Prognstico
387
Doenas do Aparelho Digestivo
1. INTRODUO
A sndrome do clon irritvel uma dentre mais de 20 perturbaes funcionais gas-
trointestinais. Estas variam na sua apresentao clnica, mas so caracterizadas por
sintomas crnicos e recorrentes, no explicveis por anomalias estruturais ou bioqu-
micas. Podem ocorrer no tracto gastrointestinal, desde a faringe zona ano-rectal.
As perturbaes funcionais gastrointestinais classificam-se, de acordo com a localiza-
o anatmica, em esofgicas, gastroduodenais, biliares, intestinais e ano-rectais.
Os distrbios esofgicos englobam a dor torcica funcional, a azia funcional, a disfa-
gia funcional, o globus e a sndrome de ruminao.
As perturbaes gastroduodenais compreendem a dispepsia funcional e a aerofagia.
As anomalias funcionais biliares incluem a disfuno da vescula biliar e a disfuno
do esfincter de Oddi.
As perturbaes ano-rectais traduzem-se em incontinncia funcional, dor funcional
ano-rectal (proctalgia fugax e sindrome do elevador anal) e disqusia.
Quanto s perturbaes funcionais intestinais, compreendem a sndrome do clon irri-
tvel, a obstipao funcional, a diarreia funcional e a distenso abdominal funcional.
2. DEFINIO DE CLON IRRITVEL
No existem marcadores especficos biolgicos ou fisiolgicos que caracterizem a sn-
drome do clon irritvel (SCI). Vrias propostas de definio tm sido advogadas ao
longo dos anos, sendo actualmente consagradas as que se baseiam nos critrios cls-
sicos de Manning et al (1978), e nos critrios recentemente propostos na reunio de
consenso de Roma II (1999).
Os critrios originais de Manning et al, definiam os seguintes sintomas como muito
sugestivos de clon irritvel:
Distenso abdominal visvel
Alvio da dor com a defecao
Dejeces mais frequentes com o incio da dor
Fezes soltas no incio da dor
Passagem de muco per rectum
Sensao de evacuao incompleta
Quanto aos critrios de Roma II, incluem os seguintes pontos:
Nos ltimos 12 meses, pelo menos 12 semanas de desconforto abdominal ou dor,
com duas das trs caractersticas seguintes:
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
389
(1) Alvio pela defecao
(2) Incio associado a alteraes na frequncia das fezes
(3) Incio associado a alteraes na consistncia das fezes
Alm destes sintomas principais, h outros que cumulativamente suportam o diagns-
tico de SCI:
Menos de trs dejeces por semana
Mais de trs dejeces por dia
Fezes duras ou grumosas
Fezes soltas ou aquosas
Esforo na defecao
Urgncia na defecao
Sensao de evacuao incompleta
Passagem de muco com as fezes
Sensao de distenso ou abaulamento abdominal
3. EPIDEMIOLOGIA
A SCI tem sido detectada em todo o mundo, com uma prevalncia estimada situada
entre 9-23%, consoante os grupos analisados e os critrios seleccionados.
Os sintomas de SCI atingem todos os escales etrios, tendendo a declinar com o
avano na idade.
Na maioria dos pases, o sexo feminino mais atingido do que o sexo masculino (60-
75% na mulher). Na ndia, pelo menos, h uma inverso nesta relao.
S uma fraco dos indivduos com SCI procuram a consulta mdica (20-50%). A dor
abdominal o sintoma que mais solicita os cuidados mdicos.
Na USA e nos pases europeus, dentre os doentes que consultam, 75-80% so mulhe-
res, ao contrrio da ndia, onde essa percentagem inferior a 20%.
A SCI o diagnstico gastroenterolgico mais comum, seja nos cuidados primrios de
sade (cerca de 12%), seja a nvel do gastrenterologista (cerca de 28%). No total,
cerca de 40% da prtica gastrenterolgica engloba distrbios funcionais gastrointes-
tinais.
A SCI constitui importante razo de absentismo no trabalho e na escola.
Os doentes com SCI ou outras perturbaes funcionais procuram mais frequentemente
medicinas alternativas ou no convencionais, do que os que padecem de afeces org-
nicas.
Doenas do Aparelho Digestivo
390
Medicinas alternativas procuradas por doentes com SCI: acupunctura, quiroprtica,
ecologia clnica, ervanrio, homeopatia, neuropatia, osteopatia, reflexologia, yoga e
meditao.
4. PATOFISIOLOGIA
O escopo da pesquisa cientfica sobre a patofisiologia da SCI evoluiu muito nos lti-
mos 50 anos. Na dcada de 50, do sculo passado, postulava-se que a SCI resultava
de uma exaltao da motilidade intestinal, e a investigao procurava estudar os efei-
tos do stress, da refeio, de peptdeos, da dor, e de outros estmulos na resposta
motora do clon. Em meados da dcada de 70, o interesse focalizou-se na hiptese
da ocorrncia de ritmos mioelctricos anormais na gnese da reactividade motora exa-
gerada do clon. Esta hiptese no teve ulterior confirmao. Com incio na dcada
de 70, e que rapidamente se prolongaram pela dcada de 90, surgiram as teorias da
hiperalgesia visceral na base dos quadros dolorosos da SCI. Mais recentemente tem
sido postulado um modelo patofisiolgico mais integrado, segundo o qual a motili-
dade exacerbada, a sensao anmala e a reactividade autonmica so moduladas
pelo eixo crebro-intestinal. Analisemos, em sinopse, as vrias hipteses patognicas
avanadas:
DISTRBIOS DA MOTILIDADE
Foram descritas as seguintes alteraes da motilidade intestinal na SCI:
Em estudos experimentais, o stress psicolgico e fsico aumenta as contraces do
clon;
Nas formas de SCI com predomnio de diarreia registou-se aumento ps-prandial
das contraces do clon; aumento das contraces rpidas do clon e da sua pro-
pagao; acelerao do trnsito intestinal;
Nas formas de SCI com predomnio de obstipao, detectou-se diminuio das con-
traces rpidas e atraso no trnsito global intestinal. A compliance e o tnus do
recto e do clon so normais;
Nas formas de SCI com predomnio da dor, detectaram-se contraces em cacho
no jejuno e contraces gigantes propagadas ao leo durante episdios de clica
abdominal. No entanto, estes achados no so patognomnicos de SCI.
Os doentes com SCI evidenciam aumento da motilidade em resposta a factores do
ambiente ou entricos: stress psicolgico, refeies, insuflao de balo, adminis-
trao de colecistoquinina. Existe tambm evidncia epidemiolgica de que os sin-
tomas de SCI podem iniciar-se aps uma infeco intestinal aguda.
AUMENTO DA SENSIBILIDADE VISCERAL
A falta de correlao entre sintomas e distrbios motores, suscitou o estudo da sen-
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
391
sibilidade ou hiperalgesia visceral.
A investigao desenvolvida nesta rea forneceu as seguintes concluses:
(1) Nos doentes com SCI existe aumento da sensibilidade distenso dolorosa do
intestino delgado e do clon;
(2) H aumento da sensibilidade funo intestinal normal;
(3) H aumento ou localizao no usual da rea de somatizao da dor visceral.
Existem vrios possveis mecanismos explicativos desta hipersensibilidade visceral:
(1) Alterao dos receptores de sensibilidade na prpria vscera, podendo ocorrer
recrutamento de nociceptores silenciosos ou sensibilizao perifrica em res-
posta isqumia ou inflamao;
(2) Aumento da excitabilidade dos neurnios da espinal-medula;
(3) Alterao na modulao central das sensaes, que pode envolver influncias
psicolgicas na interpretao dessas sensaes, ou alterao na regulao cen-
tral dos sinais neuronais ascendentes.
ACTIVIDADE AUTONMICA
Estudos recentes sugerem que ocorrem anomalias da inervao autonmica extrinse-
ca das vsceras, em doentes com distrbios funcionais intestinais. Alguns autores evi-
denciaram a existncia de disfuno vagal no sub-grupo de doentes com SCI e com
obstipao predominante; por outro lado, nos doentes com SCI e com predomnio de
diarreia encontraram evidncia de disfuno simptica adrenrgica.
MODULAO DO SNC
Segundo esta concepo, os sintomas gastrointestinais crnicos resultam da integra-
o das actividades motora, sensorial, autonmica e do sistema nervoso central.
Todos estes domnios interagem atravs de circuitos localizados em todos os nveis
do eixo crebro-intestinal, os quais propiciam as conexes entre sensaes aferentes
viscerais e funes intestinais motoras, podendo ambas ser alteradas por centros cor-
ticais superiores. Desta maneira, informaes extrnsecas (viso, cheiro, etc.) ou cog-
nitivas (emoo, pensamento) , mediante as conexes neurais dos centros superiores,
tm a capacidade de afectar a percepo, a motilidade e as secrees gastrointesti-
nais. Os numerosos neurotransmissores detectados no crebro e no intestino, so os
mensageiros que regulam essas actividades. As encefalinas, a substncia P, a calcito-
nina, o xido ntrico, a 5-hidroxitriptamina, a colecistoquinina e outros agentes, tm
efeitos variados e integrados no controlo da dor, da motilidade gastrointestinal, do
comportamento emocional e da imunidade. Com base nestes dados, defende-se
Doenas do Aparelho Digestivo
392
actualmente a necessidade de encontrar um modelo integrado que inclua factores bio-
mdicos e psicosociais. A SCI , luz deste conceito, um distrbio biopsicosocial, pelo
que s uma abordagem educacional, psicolgica, diettica e farmacolgica ser bem
sucedida no tratamento destes doentes. Importa sublinhar, que os doentes com SCI
apresentam frequentemente sintomas psicolgicos, de que se destacam a somatiza-
o, a fobia, a ansiedade, a hostilidade e a parania, que podem alterar de forma sig-
nificativa a funo motora gastrointestinal e a percepo visceral.
5. CLNICA
A constelao de sintomas da SCI foi j descrita quando se definiu esta entidade,
luz dos critrios de Manning et al., ou do consenso de Roma II. importante, no
entanto, analisar semiologicamente os principais sintomas que caracterizam a SCI:
Desconforto e dor abdominal
A dor pode traduzir-se de vrias formas: tipo clica, dor aguda afiada, ou frouxa. O
desconforto pode manifestar-se por sensao de peso algures no abdmen. curio-
so salientar que a primeira forma de apresentao do desconforto ou dor, tende a per-
sistir no follow-up com as mesmas caractersticas. Qualquer alterao nesse padro
deve alertar para a hiptese de outra doena, possivelmente orgnica.
Tambm parece ser relativamente estvel em cada indivduo o ritmo de aparecimento
destes sintomas. Alguns doentes tm queixas sintomticas dirias, ao passo que outros
descrevem episdios intermitentes de dor com intervalos de semanas ou de meses.
A dor e o desconforto podem ser contnuos ao longo do dia, ou ter um ritmo prprio,
podendo iniciar-se imediatamente aps o despertar, ou aps as refeies, ou relacio-
nar-se com eventos ou actividades especficas dirias.
Quanto localizao da dor, no se confirma, contrariamente opinio tradicional, a
sua preferncia pelo flanco esquerdo.
Diarreia
A SCI com predomnio de diarreia menos frequente do que o padro de obstipao.
A definio de diarreia no fcil. A consistncia pastosa das fezes e as dejeces
frequentes esto certamente interrelacionadas. Contudo, h doentes que se queixam
frequentemente de uma defecao normal no incio da manh, seguida de fezes sol-
tas, sem outros distrbios durante o resto do dia. Outros doentes queixam-se de diar-
reia excessiva, que consiste em visitas frequentes casa de banho, com dejeco de
pequenas quantidades de muco, fezes normais, ou mesmo sem emisso de fezes. A
histria clnica por isso importante para o diagnstico diferencial entre diarreia org-
nica e funcional.
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
393
Obstipao
Aceita-se, presentemente, que existe obstipao quando a defecao ocorre menos de
trs vezes por semana. Apesar desta aparente definio matemtica, a descrio de
obstipao mais diferenciada. Um doente pode ter obstipao quando a defecao
mudou recentemente de um ritmo dirio para um ritmo alternado (dia sim, dia no),
ou se ocorreu alterao significativa na consistncia das fezes. Por outro lado, o esfor-
o na defecao ou a sensao de evacuao incompleta podem tambm fazer pen-
sar em obstipao. O toque rectal pode esclarecer a situao, se a ampola rectal est
cheia de resduos fecais duros.
Distenso abdominal
No confundir distenso abdominal devida acumulao de gases e/ou lquidos, com
protuberncia abdominal por acentuada lordose lombar ou distase do msculo rec-
tus abdominis. Muitos doentes com SCI queixam-se de distenso gasosa/lquida por-
que tm acelerao do trnsito no intestino delgado, de que resulta excessiva fermen-
tao bacteriana no clon com produo de gases e compostos osmoticamente acti-
vos, designadamente cidos gordos de cadeia curta. As fezes tornam-se moles, liqui-
das e mesmo explosivas.
Excreo de muco
um sintoma no raro, sobretudo em doentes com predomnio de obstipao. A pato-
fisiologia deste sintoma no ainda clara, podendo relacionar-se com uso de laxan-
tes ou com SCI ps-infeco.
Evacuao incompleta
um sintoma que pode combinar-se com qualquer dos anteriores. Quando se prolon-
ga por muito tempo, deve ser explorado endoscopicamente e possivelmente tambm
por defecografia para eliminar obstrues anatmicas ou funcionais ano-rectais: pro-
lapso, rectocelo e sindrome do pavimento plvico.
6. MANIFESTAES EXTRA-CLICAS DA SCI
Os sintomas da SCI tm aparentemente origem no tracto gastrointestinal baixo. No
entanto, este complexo sintomtico caracteristicamente heterogneo, apresentando
os doentes, com frequncia, sintomas extra-clicos. So as seguintes as situaes cli-
nicas que podem associar-se, em maior ou menor frequncia, ao clon irritvel:
Dor torcica no cardaca
Dispepsia funcional
Disquinsia do esfincter de Oddi
Anismus
Doenas do Aparelho Digestivo
394
Cefaleia/migraine
Fibromialgia
Dor lombar
Sindrome de fadiga crnica
Depresso e perturbao no sono
Disria
Dispareunia
7. DIAGNSTICO DIFERENCIAL
H essencialmente seis tipos de entidades a considerar no diagnostico diferencial da
SCI:
(a) Sindromes de m absoro, designadamente quadros ps-gastrectomia, doen-
a intestinal (por ex. sprue) e doena pancretica;
(b) Factores dietticos, incluindo lactose (em doentes deficientes em lactase),
cafena, lcool, alimentos ricos em gordura ou que libertam gases;
(c) Infeces ou parasitoses, designadamente bactrias (campylobacter jejuni, sal-
monella), amibase ou giardase;
(d) Doena inflamatria intestinal. A doena de Crohn, mais que a colite ulcerosa,
pode mimetizar o clon irritvel. As colites microscpicas tambm devem ser
consideradas no diagnstico diferencial (o seu diagnstico faz-se por bipsia,
durante o exame endoscpico);
(e) Distrbios psicolgicos, nomeadamente situaes de depresso, somatizao e
pnico;
(f ) Outras hipteses, designadamente a endometriose, tumores endcrinos e a
doena por HIV.
8. DIAGNSTICO
A capacidade de elaborar um diagnstico conclusivo de SCI condicionada por vrios
factores. Em primeiro lugar, no existem marcadores estruturais ou bioqumicos desta
sindrome. Alm disso, os sintomas da SCI so frequentemente no especficos, varian-
do de natureza e grau entre os doentes. Por outro lado, a evoluo da doena incon-
sistente. So elevadas as taxas de ecloso e desaparecimento da sindrome, reportan-
do os doentes diferentes locais e tipos de dor abdominal em momentos diferentes.
Por estas razes, a investigao clnica procurou, nas duas ltimas dcadas, desen-
volver critrios de diagnstico que permitissem identificar os padres sintomticos
predominantes da SCI, possibilitando ao clnico a individualizao do diagnstico e
do tratamento. Assim nasceram os critrios de Manning e de Roma.
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
395
Na abordagem diagnstica inicial da SCI, a estratgia a seguir envolve as seguintes
medidas:
COMENTRIOS
(1) A histria clnica uma pea fundamental na elaborao do diagnstico de SCI. O
clnico deve procurar verificar se a constelao de sintomas que o doente refere se
enquadra na definio de clon irritvel, de acordo com os critrios de Manning e de
Roma, explicitados neste texto.
Como referimos, alm das queixas intestinais, frequente a coexistncia de sintoma-
tologia extra-clica, que deve ser objecto de anlise e anotao.
Outro aspecto importante na colheita da histria clnica, procurar estabelecer o per-
fil psicolgico do doente, identificando nomeadamente sinais de ansiedade, depres-
so, somatizao e fobias, tentando por outro lado inquirir sobre abusos fsicos e
sexuais, um achado no infrequente na mulher com SCI.
Ainda no mbito da histria clnica, devem ser identificados factores que podem con-
correr para a exacerbao dos sintomas de SCI: abuso de cafeina, frutose, sorbitol e
lactose, que podem contribuir para o agravamento da dor, distenso e diarreia. Deve
sublinhar-se, igualmente, que a diarreia da SCI pode dever-se, pelo menos em 10%
dos casos, a m absoro de cidos biliares no leo, situao que origina uma ente-
ropatia colertica, com diarreia.
Um exame fsico minucioso deve completar a histria clnica do doente. O maior valor
deste exame reside na probabilidade de deteco de sinais bvios de doena orgni-
ca. Na SCI o exame fsico no fornece indicaes significativas. No esquecer a reali-
zao de um toque rectal.
(1)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
Reavaliar s 4 - 6 semanas
Iniciar tratamento
Realizar testes de diagnstico
Considerar outros factores clnicos
Identificar o sintoma dominante
Estabelecer a hiptese de SCI
com base nos sintomas
Doenas do Aparelho Digestivo
396
(2) importante identificar o sintoma dominante, para facultar a teraputica inicial
mais adequada. H doentes com SCI onde predomina a obstipao, noutros predomi-
na a diarreia, e noutros a queixa essencial a dor. Estas notas clnicas vo orientar
na elaborao da teraputica de prova.
(3) H alguns factores clnicos que devem ser objecto de anlise, no sentido de pla-
nificar a estratgia de diagnstico:
(a) Durao e severidade das queixas. Incio recente dos sintomas, particularmen-
te em doentes idosos, ou sintomas muito severos, requerem exames comple-
mentares mais extensos;
(b) Alterao do padro sintomtico com o tempo. Se ocorre este evento, pru-
dente proceder a um estudo cuidadoso no sentido de eliminar a hiptese de
uma causa orgnica;
(c) Caractersticas demogrficas. importante sublinhar, neste ponto, que a SCI
mais frequente na mulher e no jvem;
(d) Exames diagnsticos prvios. Importa examinar esses dados, para evitar sobre-
posies desnecessrias na petio de testes de diagnstico;
(e) Histria familiar de cancro do clon. uma informao importante, que impe
uma estratgia de diagnstico mais especfica;
(f ) Natureza e extenso de dificuldades psicosociais.
(4) A abordagem diagnstica inicial da SCI baseia-se essencialmente na histria clni-
ca e na petio de alguns exames complementares. Numa primeira fase, os estudos
a solicitar em todos os doentes com suspeita clnica de SCI so os seguintes:
Hemograma (Anemia? Leucocitose?)
PCR e VS
Bioqumica de rotina
Exame de fezes (sangue, ovos/parasitas, leuccitos e cultura)
Testes da funo tiroideia
Pansigmoidoscopia/colonoscopia ou clister opaco *
* Deve preferir-se a colonoscopia ou o clister opaco em indivduos com mais de 50
anos, ou com histria familiar de cancro colorectal. A pansigmoidoscopia ou a colo-
noscopia devem incluir bipsia rectal, designadamente para identificar a colite micros-
cpica.
Na avaliao inicial ou screening do doente com suspeita de SCI, h sinais de aler-
ta que obrigam realizao de mais estudos. Esses sinais de alarme, de natureza cl-
nica ou laboratorial, so os seguintes:
Incio das queixas em idade avanada
Evoluo clnica permanente e progressiva
As queixas despertam o doente com frequncia
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
397
Febre
Perda de peso
Rectorragias
Esteatorreia
Desidratao
Novos sintomas aps um longo perodo assintomtico
Histria familiar de cancro colorectal ou DII
Exame fsico anormal
Sangue oculto nas fezes
Hemoglobina
Leucocitose
PCR e VS
Bioqumica alterada
(5) Se as queixas clnicas se enquadram na sindrome do clon irritvel, e so normais
os estudos complementares solicitados, deve passar-se fase de teraputica de
prova, a qual ser adaptada s caractersticas sintomticas predominantes. No entan-
to, antes da prescrio de frmacos, fundamental esclarecer o doente sobre as
caractersticas da doena que o incomoda e sobre o significado dos achados labora-
toriais normais. Restabelecer a confiana do doente, e tranquiliz-lo, uma medida
prioritria. A SCI exige uma relao mdico-doente muito slida.
Um ensaio teraputico faz parte do processo de diagnstico. Esse ensaio deve ser
prosseguido pelo menos durante quatro semanas. Os frmacos a testar devem ter em
conta as caractersticas clnicas dos sintomas e o perfil psicolgico do doente. No qua-
dro seguinte, indica-se uma proposta teraputica inicial:
(6) Aps um tratamento de prova, com uma durao no superior a 4-6 semanas, o
doente deve ser reavaliado. Se o ensaio teraputico inicial no surtiu efeito, h neces-
sidade de ponderar a realizao de estudos mais aprofundados no mbito da SCI, de
acordo com o esquema seguinte:
Doenas do Aparelho Digestivo
398
Restabelecer a confiana do doente. Slida relao mdico-doente
Diarreia
Agentes antidiarreicos, por ex., loperamida
Diarreia + dor
Antidepressivos tricclicos, por ex., amitriptilina, 10-25 mgr 2vezes/dia
Obstipao
Suplemento diettico com fibra (20 gr/dia)
Laxantes osmticos, nomeadamente lactulose, sais de magnsio ou polietilenoglicol
Dor
Antiespasmdicos/anticolinrgicos
TRATAMENTO INICIAL: ENSAIO TERAPUTICO
COMENTRIOS
Infelizmente, no nosso Pas, a realizao destes testes ainda no se encontra suficien-
temente divulgada e acessvel. A sua efectivao pode contribuir de forma significati-
va para o esclarecimento dos mecanismos fisiopatolgicos que esto na base dos sin-
tomas, auxiliando na seleco da melhor atitude teraputica.
Quando estes estudos no podem ser realizados, h frequentemente necessidade de
alterar a estratgia teraputica, ensaiando novos frmacos ou associando agentes
medicamentosos. importante, por isso, abordar com mais pormenor as medidas
teraputicas convencionais da SCI, e tecer alguns comentrios sobre o advento, a
curto prazo, de novos produtos medicamentosos para esta rea.
9. TRATAMENTO
A. OBJECTIVOS
A sindrome do clon irritvel integra uma constelao de sintomas, expressos nos cri-
trios de Manning e de Roma.
Contudo, como j referenciamos, os doentes com SCI podem apresentar queixas de
outras reas do organismo (sintomas urinrios, dispareunia, fadiga crnica, etc.),
sendo por outro lado crescentemente bvio que a SCI integra um espectro mais amplo
de sintomas, colectivamente designados de perturbaes abdominais funcionais,
podendo coexistir, por isso, sobreposio de sintomas com outras entidades funcio-
nais, por exemplo dispepsia, ou situaes aparentemente no relacionadas, como seja
a sindrome da fadiga crnica e a fibromialgia.
O desafio teraputico da SCI torna-se ainda mais complexo pelo facto de que 40-60%
dos doentes com esta sindrome que buscam cuidados mdicos, evidenciam sintomas
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
399
Trnsito do clon com Teste respiratrio da Radiografia do
marcadores radio-opacos lactose / H2 intestino delgado
Manometria anal e Osmolaridade e electrlitos Teste da lactose / H2
expulso de balo nas fezes Teste com anti-depressivo
Defecografia Transito baritado do intestino
Teste da colestiramina ou
teste 75 Se H CAT
(para avaliar diarreia colertica)
ESTUDOS REALIZADOS ADICIONAIS
Obstipao Diarreia Dor/Distenso
psicolgicos de depresso e ansiedade, ou ambos.
Sendo assim, os objectivos teraputicos da SCI tm como alvo no s os sintomas
abdominais referenciados pelo doente, que alis flutuam com o tempo no mesmo
indivduo, mas tambm os sintomas no intestinais e os distrbios afectivos associa-
dos.
por isso improvvel que um nico frmaco possa debelar satisfatoriamente todas
as facetas desta sndrome. Por outro lado, o tratamento tem de ser personalizado e
baseado numa cuidada histria clnica.
B. TERAPUTICA CONVENCIONAL
A teraputica tradicional da sndrome do clon irritvel compreende essencialmente
quatro medidas: teraputica de suporte, medidas dietticas, tratamento farmacolgi-
co e interveno psicolgica.
Teraputica de suporte
Obtido um diagnstico seguro de SCI, compete ao mdico explicar ao doente o sig-
nificado dos sintomas, e assegurar-lhe que se trata de uma enfermidade benigna, que
no envolve riscos no futuro, ainda que seja uma afeco usualmente crnica e recor-
rente. O estabelecimento de uma relao de confiana mdico-doente, fulcral na
abordagem eficaz desta entidade.
Medidas dietticas
A principal medida de ordem diettica a recomendao de fibra, especialmente nos
doentes com quadros ligeiros ou moderados de SCI onde predomina a obstipao ou
a diarreia. Nos doentes com sintomas severos ou refractrios, a fibra no est reco-
mendada. A fibra um produto barato e incuo, que deve ser tomada em doses ade-
quadas. Deve aconselhar-se o doente a iniciar este regime com uma colher de sopa
ao pequeno-almoo, adicionando progressivamente fibra ao almoo e ao jantar at
atingir o mximo efeito. As alteraes na dose devem ser efectuadas semanalmente.
Quando a fibra mal tolerada, deve ser substituda por laxantes de volume, nomea-
damente o psyillum, substncia mucilide hidroflica derivada de sementes de uma
planta nativa da ndia. Recomenda-se uma dose de 1-2 colheres de ch (2-6 gr), trs
vezes por dia, s refeies.
Outras medidas dietticas eventualmente teis: absteno de cafena, lcool e ado-
antes artificiais, por serem irritantes intestinais. Alguns doentes com SCI tm intole-
rncia lactose, pelo que deve ser ponderada a eventual necessidade da sua elimi-
nao da dieta. A correco de hbitos alimentares irregulares, outra medida ben-
fica, bem como a eliminao de frmacos que afectam o funcionamento intestinal.
Doenas do Aparelho Digestivo
400
Teraputica farmacolgica
A teraputica tradicional da SCI apoia-se em vrios agentes farmacolgicos, previa-
mente testados no mbito de ensaios clnicos. Esses ensaios tm sido objecto de cr-
tica, pelas razes seguintes:
(1) Foram realizados em curto perodo de tempo. Desconhece-se, por isso, a efic-
cia das vrias propostas teraputicas a longo prazo.
(2) No tiveram em conta um aspecto crucial, que o da relao entre o mdico
e o doente, um dos pilares do xito teraputico.
(3) O recrutamento de doentes para os ensaios clnicos nem sempre obedecem aos
critrios definidos por Manning et al, ou pelo consenso de Roma.
(4) A maioria dos ensaios no considerou a graduao da severidade clnica da
SCI.
(5) Muitos ensaios no incluram um brao com placebo, pelo que os resultados
so de difcil interpretao. De facto, nos doentes com SCI, a resposta positi-
va ao placebo pode atingir os 70%.
A opinio de autores consagrados a de que os ensaios teraputicos realizados com
os frmacos convencionais, no evidenciaram resultados superiores aos obtidos com
placebo. Apesar destas reservas, usual a prescrio de certos frmacos dirigidos ao
sintoma dominante da SCI.
A dor abdominal e a distenso so frequentemente os sintomas mais difceis de jugu-
lar. A abordagem tradicional a prescrio de frmacos que reduzem o espasmo intes-
tinal, nomeadamente anticolinrgicos ou relaxantes da musculatura lisa. Uma meta-
anlise recente sugere benefcio clnico para a dor mediante a utilizao de um dos
seguintes frmacos: mebeverina, trimebutina, brometo de pinavrio, brometo de octi-
linium e brometo de cimetropium. Os analgsicos no actuam nos quadros dolorosos
da SCI e os narcticos so inapropriados e perigosos. Em anos recentes, os antide-
pressores tm sido utilizados no tratamento da dor da SCI, como veremos adiante.
Quando o sintoma predominante a diarreia, so teis os derivados opiides (lope-
ramida e difenoxilato). Em ensaios clnicos controlados, a loperamida revelou eficcia
superior ao placebo na reduo do nmero de dejeces. Um estudo recente sugere
que a m absoro de cidos biliares responsvel por 30% dos quadros diarreicos
da SCI. Nos doentes em que existe suspeita desta situao, a utilizao de colestira-
mina pode revelar-se benfica, na dose de 2-4 gr/dia.
A obstipao severa que no responde ao suplemento diettico com fibra, exige uma
teraputica mais agressiva. No recomendada a utilizao crnica de fenolftaleina,
cascara, sena e bisacodil. A teraputica mais eficaz para a obstipao severa inclui a
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
401
utilizao de laxantes osmticos, a lavagem do clon com PG (polietilenoglicol) e a
reeducao intestinal.
A lactulose e o sorbitol so laxantes osmticos que aumentam a peristalse e o bolo
fecal. A utilizao de uma soluo isotnica oral contendo PEG incua e eficaz.
Quanto reeducao intestinal, envolve a necessidade de o doente se sentar na sani-
ta diriamente, durante 15-20 minutos, sem obrigao de defecar, sendo esta medida
acompanhada de dieta com muita fibra e um laxante osmtico. Se apesar destas
medidas no ocorrer evacuao de fezes, aconselha-se um clister cada 2-3 dias.
A colectomia subtotal deve realizar-se exclusivamente em doentes rigorosamente
seleccionados, com inrcia severa do clon, onde falharam todas as medidas terapu-
ticas mdicas.
Interveno psicolgica
Vrios tipos de interveno psicolgica tm sido estudados no tratamento da SCI:
terapia de relaxamento, hipnose, biofeedback, terapia cognitiva comportamental e
teraputica psicodinmica. Estudos controlados e randomizados, utilizando a farma-
coterpia convencional como controlo de interveno, revelaram que qualquer destas
tcnicas de interveno psicolgica no inferior teraputica farmacolgica.
actualmente reconhecido que os frmacos antidepressores, independentemente do
seu efeito psicotrpico, tm propriedades neuromoduladoras e analgsicas. Os anti-
depressores tm sido utilizados com sucesso noutras sindromes de dor crnica, desig-
nadamente dores neuropticas e cefaleias crnicas. Os efeitos analgsicos so simila-
res nos indivduos deprimidos e no deprimidos. Actualmente so utilizados com fre-
quncia antidepressores, quer tricclicos quer inibidores selectivos da recaptao da
serotonina, no tratamento de doentes com SCI. Os antidepressores do primeiro grupo
utilizam-se mais nos doentes com queixas de dor abdominal, diarreia e nusea,
enquanto que os do segundo grupo so preferentemente utilizados nos quadros de
SCI com obstipao, por terem efeito procintico.
C. NOVOS FRMACOS EMERGENTES
As novas informaes acumuladas pela pesquisa cientfica sobre a patofisiologia da
SCI, suscitaram o desenvolvimento de novos compostos orientados para os distrbios
da motilidade, a reduo da hipersensibilidade visceral e a restaurao da desarmo-
nia do SNC, modulando os efeitos do stress, a angstia psicolgica e os distrbios
afectivos. A avaliao desses novos agentes encontra-se ainda em fase de ensaios
teraputicos, prevendo-se a introduo de alguns deles na prtica clnica num curto
prazo.
Doenas do Aparelho Digestivo
402
(1) Agentes que modificam a sensao visceral
Antagonistas dos receptores 5-HT
Nesta rea tm sido estudados os antagonistas dos receptores 5-HT3 (granisetron, tro-
pisetron, ondasetron e alosetron). Os estudos clnicos com estes produtos so ainda
limitados. O alosetron revelou-se significativamente superior ao placebo no alvio da
dor e do desconforto da SCI na mulher, no entanto evidenciou efeitos secundrios que
determinaram a sua suspenso.
Agonistas dos receptores K
Uma abordagem alternativa no alvio da dor abdominal da SCI seria a utilizao de
agonistas opiides K, designadamente a trimebutina e a fedotozina. Esta ltima, na
dose de 30 mgr trs vezes por dia, revelou-se superior ao placebo no alvio da dor
abdominal e da distenso em doentes com SCI.
Anlogos da somatostatina
A somatostatina e seus anlogos tm propriedades anti-nociceptivas, consubstancia-
das em efeitos analgsicos na dor somtica e visceral. Os estudos com estes produ-
tos, no mbito da SCI, encontram-se ainda em fase preliminar, mas revelam-se pro-
missores.
(2) Agentes que modificam a motilidade intestinal
Agentes hipocinticos
Foram desenvolvidos recentemente compostos que actuam por inibio dos recepto-
res muscarnicos M3. Um membro desta classe de drogas, a zamifenacina, foi recen-
temente avaliado no tocante aos seus efeitos sobre a actividade motora do clon.
Numa dose de 40 mgr, o produto diminui marcadamente a motilidade do clon, regis-
tando-se uma reduo na amplitude mdia das contraces, no nmero de contrac-
es, na percentagem de durao das contraces e no ndice de motilidade.
Uma abordagem alternativa no controlo da frequncia de dejeces na SCI a utili-
zao de antidepressores tricclicos, que tm invariavelmente actividade anticolinrgi-
ca, pelo que atrasam o trnsito intestinal. So necessrias doses inferiores s que
usualmente se prescrevem no tratamento da depresso.
Agentes procinticos
So bastante encorajadores os resultados preliminares com o agonista 5-HT4, o
HTF919 (Zelmac). Num ensaio controlado duplamente cego realizado em doentes com
SCI onde predominava a obstipao, a eficcia clnica s 16 semanas revelou-se supe-
rior ao placebo, considerando todos os sintomas gastrointestinais.
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
403
(3) Agentes que modificam os distrbios afectivos
O papel dos factores psicolgicos na SCI continua a ser vigorosamente debatido.
Numa recente reviso elaborada pela American Gastroenterological Association (1997),
reconhece-se que, no mbito dos factores psicosociais, o stress psicolgico exacerba
os sintomas gastrointestinais, que os distrbios psicolgicos afectam a experincia da
doena e o subsequente comportamento e que a SCI pode determinar uma quebra na
qualidade de vida. Em consequncia, esta conceituada Associao Americana de
Gastrenterologia recomenda vivamente a utilizao de teraputicas psicolgicas,
designadamente as referidas em captulo anterior, e tambm a prescrio de antide-
pressores tricclicos para atrasar o trnsito intestinal, e de antidepressores inibidores
selectivos da recaptao da serotonina quando se pretende acelerar o trnsito.
10. PROGNSTICO
Dado que no existem marcadores biolgicos para definir a sindrome do clon irrit-
vel, tm sido validados critrios baseados em sintomas para formular o diagnstico.
necessrio percia clnica para individualizar a teraputica nestes doentes. A nature-
za dos sintomas, factores predisponentes, alteraes fisiolgicas, influncias psicoso-
ciais e o curso da doena, todos interagem e influenciam as decises clnicas e o prog-
nstico.
A SCI uma doena crnica, em que 75% dos doentes tm sintomas flutuantes. As
recorrncias devem ser tratadas com base nas caractersticas dos sintomas, conceden-
do especial ateno aos influxos psicolgicos que contribuem para a exacerbao.
crucial uma atmosfera de empatia entre o mdico e o doente. A resposta ao tratamen-
to costuma ser melhor no homem do que na mulher, nos doentes onde predomina a
obstipao, nos doentes cujos sintomas foram inicialmente despoletados por um epi-
sdio de diarreia aguda, e nos doentes com uma histria da doena relativamente
curta. Na maioria dos casos o prognstico bom.
Doenas do Aparelho Digestivo
404
INTESTINO - Sndrome do Clon Irritvel
405
REFERNCIAS
Phillips SF, Wingate DL (Eds). Functional disorders of the Gut. Churchill Livingstone, 1998.
Drossman DA (Ed.). The functional gastrointestinal disorders. Little, Brown and Company, 1994.
Read NW (Ed.). Irritable Bowel Syndrome. Grune & Stratton, 1985.
Talley NJ. Treatment of the irritable bowel syndrome. In: Wolfe MM (Ed.). Therapy of Digestive Disorders.
W.B. Saunders Co. 2000:477-490.
Rome II: A Multinational Consensus Document on Functional Gastrointestinal Disorders. Gut 1999; 45(suppl n 11).
Knowles B, Drossman DA. Irritable bowel syndrome: diagnosis and treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B (Eds.).
Evidence based Gastroenterology and Hepatology. BMJ Books 1999:241-259.
Mascarenhas Saraiva M. Motilidade Digestiva : o passado, o presente, perspectivas para o futuro e seu papel na moderna Gastrenterologia.
GE J Port. Gastrenterol 1996;3(4), Supl:39-47.
Mascarenhas Saraiva M, Castro Poas F, Pinho C. Perturbaes funcionais do intestino. GE J Port. Gastrenterol 1998;5(2):113-124.
Pontes F. Motilidade do clon plvico: aspectos tcnicos e fisiolgicos. Tese de doutoramento. Coimbra, 1970.
Pontes F. Motilidade do clon: uma sobreviso de bases fisiolgicas, fisiopatolgicas e teraputicas. Boletim Soc Port Fisiol 1980;I,1:49-66.
Freitas D. Clon irritvel. In: Freitas D (Ed.) Temas de Medicina 1985 (1 vol.):265-284.
Banerjee S, LaMont FT. Treatment of gastrointestinal infections. Gastroenterology 2000; 118(2), Suppl 1:S48-S67.
Camillery M (Ed.). Gastrointestinal motility in clinical practice. Gastroenterol Clin N Am 1996;25(1).
Thompson WG, Hungin AP, Neri M, Holtmann G, Sofos S, Delvaux M, Caballero-Plasencia A. The management of irritable bowel syndrome:
a European, primary and secondary care collaboration. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Aug;13(8):933-9.
Martin R, Barron JJ, Zacker C. Irritable bowel syndrome: toward a cost-effective management approach.
Am J Manag Care. 2001 Jul;7(8 Suppl):S268-75.
Horwitz BJ, Fisher RS. The irritable bowel syndrome. N Engl J Med. 2001 Jun 14;344(24):1846-50.
Koloski NA, Talley NJ, Boyce PM. Predictors of health care seeking for irritable bowel syndrome and nonulcer dyspepsia: a critical review
of the literature on symptom and psychosocial factors. Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1340-9.
Shanahan F. Probiotics in inflamatory bowel disease. Gut. 2001 May;48(5):609.
De Ponti F, Tonini M. Irritable bowel syndrome: new agents targeting serotonin receptor subtypes. Drugs. 2001;61(3):317-32.
Zar S, Kumar D, Benson MJ. Food hypersensitivity and irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Apr;15(4):439-49.
De Schryver AM, Samsom M. New developments in the treatment of irritable bowel syndrome.
Scand J Gastroenterol Suppl. 2000;(232):38-42.
Milla PJ. Irritable bowel syndrome in childhood. Gastroenterology. 2001 Jan;120(1):287-90.
Camilleri M. Review article: tegaserod. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Mar;15(3):277-89.
Camilleri M. Management of the irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2001 Feb;120(3):652-68.
Akehurst R, Kaltenthaler E. Treatment of irritable bowel syndrome: a review of randomised controlled trials. Gut. 2001 Feb;48(2):272-82.
Camilleri M, Coulie B, Tack JF. Visceral hypersensitivity: facts, speculations, and challenges. Gut. 2001 Jan;48(1):125-31.
Tougas G. The autonomic nervous system in functional bowel disorders. Gut. 2000 Dec;47 Suppl 4:iv78-80.
Mayer EA. Spinal and supraspinal modulation of visceral sensation. Gut. 2000 Dec;47 Suppl 4:iv69-72.
Furness JB, Clerc N, Kunze WA. Memory in the enteric nervous system. Gut. 2000 Dec;47 Suppl 4:iv60-2.
Muller-Lissner S. Is the distinction between organic and functional disorders helpful? Dig Liver Dis. 2000 Jan-Feb;32(1):9-11.
Turnbull GK. Lactose intolerance and irritable bowel syndrome. Nutrition. 2000 Jul-Aug;16(7-8):665-6.
Jailwala J, Imperiale TF, Kroenke K. Pharmacologic treatment of the irritable bowel syndrome: a systematic review of randomized,
controlled trials. Ann Intern Med. 2000 Jul 18;133(2):136-47.
Smout A, Azpiroz F, Coremans G, Dapoigny M, Collins S, Muller-Lissner S, Pace F, Stockbrugger R, Vatn M, Whorwell P. Potential pitfalls in
the differential diagnosis of irritable bowel syndrome. Digestion. 2000;61(4):247-56.
Jouet P, Coffin B, Cuillerier E, Soule JC, Flourie B, Lemann M. Colonic motility in humans. Recent physiological, pathophysiological and
pharmacological data. Gastroenterol Clin Biol. 2000 Mar;24(3):284-98.
Balfour JA, Goa KL, Perry CM. Alosetron. Drugs. 2000 Mar;59(3):511-8.
De Lillo AR, Rose S. Functional bowel disorders in the geriatric patient: constipation, fecal impaction, and fecal incontinence. Am J
Gastroenterol. 2000 Apr;95(4):901-5.
Licht HM. Irritable bowel syndrome. Definitive diagnostic criteria help focus symptomatic treatment. Postgrad Med. 2000 Mar;107(3):203-7.
Toner BB, Akman D. Gender role and irritable bowel syndrome: literature review and hypothesis. Am J Gastroenterol. 2000 Jan;95(1):11-6.
Hawkey CJ. Irritable bowel syndrome clinical trial design: future needs. Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):98S-102S.
Spiller RC. Problems and challenges in the design of irritable bowel syndrome clinical
trials: experience from published trials. Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):91S-97S.
Jones R. Likely impacts of recruitment site and methodology on characteristics of enrolled patient population: irritable bowel syndrome
clinical trial design. Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):85S-90S.
Naliboff BD, Fullerton S, Mayer EA. Measurement of symptoms in irritable bowel syndrome clinical trials.
Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):81S-84S.
Creed F. The relationship between psychosocial parameters and outcome in irritable bowel syndrome.
Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):74S-80S.
Lydiard RB, Falsetti SA. Experience with anxiety and depression treatment studies: implications for designing irritable bowel syndrome
clinical trials. Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):65S-73S.
Drossman DA. Do psychosocial factors define symptom severity and patient status in irritable bowel syndrome?
Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):41S-50S.
Whitehead WE. Patient subgroups in irritable bowel syndrome that can be defined by symptom evaluation and physical examination.
Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):33S-40S.
Camilleri M. Therapeutic approach to the patient with irritable bowel syndrome. Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):27S-32S.
Schmulson MW, Chang L. Diagnostic approach to the patient with irritable bowel syndrome. Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):20S-26S.
Mayer EA. Emerging disease model for functional gastrointestinal disorders. Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):12S-19S.
Hammer J, Talley NJ. Diagnostic criteria for the irritable bowel syndrome. Am J Med. 1999 Nov 8;107(5A):5S-11S.
Phillips SF. Irritable bowel syndrome: making sense of it all. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Oct;13(3):489-503.
Read NW. Harnessing the patients powers of recovery: the role of the psychotherapies in the irritable bowel syndrome.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Oct;13(3):473-87.
Farthing MJ. Irritable bowel syndrome: new pharmaceutical approaches to treatment. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 1999 Oct;13(3):461-71.
Thompson WG. Irritable bowel syndrome: a management strategy. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Oct;13(3):453-60.
Gaynes BN, Drossman DA. The role of psychosocial factors in irritable bowel syndrome.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Oct;13(3):437-52.
Houghton LA. Sensory dysfunction and the irritable bowel syndrome. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Oct;13(3):415-27.
Spiller RC. Disturbances in large bowel motility. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Oct;13(3):397-413
Quigley EM. Disturbances in small bowel motility. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Oct;13(3):385-95.
Talley NJ. Irritable bowel syndrome: definition, diagnosis and epidemiology. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol.
1999 Oct;13(3):371-84.
Hotz J, Enck P, Goebell H, Heymann-Monnikes I, Holtmann G, Layer P. Consensus report: irritable bowel syndromedefinition, differential
diagnosis, pathophysiology and therapeutic possibilities. Consensus of the German Society of Digestive and Metabolic Diseases.
Z Gastroenterol. 1999 Aug;37(8):685-700.
Kalantar JS, Locke III GR. Disease-specific outcomes assessment for irritable bowel syndrome.
Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Oct;9(4):685-95.
Wessely S, Nimnuan C, Sharpe M. Functional somatic syndromes: one or many? Lancet. 1999 Sep 11;354(9182):936-9.
Drossman DA, Creed FH, Olden KW, Svedlund J, Toner BB, Whitehead WE. Psychosocial aspects of the functional gastrointestinal disorders.
Gut. 1999 Sep;45 Suppl 2:II25-30.
Kellow JE, Delvaux M, Azpiroz F, Camilleri M, Quigley EM, Thompson DG. Principles of applied neurogastroenterology:
physiology/motility-sensation. Gut. 1999 Sep;45 Suppl 2:II17-24.
Wood JD, Alpers DH, Andrews PL. Fundamentals of neurogastroenterology. Gut. 1999 Sep;45 Suppl 2:II6-II16.
Drossman DA. The functional gastrointestinal disorders and the Rome II process. Gut. 1999 Sep;45 Suppl 2:II1-5.
Mangel AW, Northcutt AR. Review article: the safety and efficacy of alosetron, a 5-HT3 receptor antagonist, in female irritable bowel
syndrome patients. Aliment Pharmacol Ther. 1999 May;13 Suppl 2:77-82.
Gunput MD. Review article: clinical pharmacology of alosetron. Aliment Pharmacol Ther. 1999 May;13 Suppl 2:70-6.
Malagelada JR. Review article: clinical pharmacology models of irritable bowel syndrome.
Aliment Pharmacol Ther. 1999 May;13 Suppl 2:57-64.
Camilleri M. Review article: clinical evidence to support current therapies of irritable bowel syndrome.
Aliment Pharmacol Ther. 1999 May;13 Suppl 2:48-53.
Humphrey PP, Bountra C, Clayton N, Kozlowski K. Review article: the therapeutic potential of 5-HT3 receptor antagonists in the treatment
of irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 1999 May;13 Suppl 2:31-8.
Drossman DA. Review article: an integrated approach to the irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 1999 May;13 Suppl 2:3-14.
Doenas do Aparelho Digestivo
406
INTESTINO - Doena Diverticular do Clon
407
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XVIII
DOENA DIVERTICULAR DO CLON
1. Epidemiologia
2. Etiologia/Patognese
3. Espectro Clnico e Tratamento
407
Doenas do Aparelho Digestivo
1. EPIDEMIOLOGIA
A doena diverticular do clon (DDC) foi uma raridade at ao sculo XX. actualmen-
te consensual que a incidncia desta doena aumentou progressivamente nas socie-
dades onde se operou uma reduo paulatina da fibra na dieta.
A DDC actualmente comum nos pases ocidentais, menos frequente nos pases sul-
americanos, e muito rara em frica e no Oriente. A prevalncia real desta doena
desconhecida. Na USA e em pases desenvolvidos, a prevalncia aproxima-se dos 10%.
A idade uma varivel muito importante. A diverticulose pouco comum antes dos
40 anos, aumenta de frequncia com a idade, estimando-se uma incidncia de 50%
pela nona dcada de vida. Os registos de autpsia sugerem que a DDC ocorre em
cerca de 50% dos adultos com mais de 60 anos de idade.
A distribuio anatmica dos diverticulos tambm varia com a localizao geogrfica.
Em geral, nos pases industrializados, includa a USA, a Europa e a Austrlia, os diver-
ticulos localizam-se no clon esquerdo. Pelo contrrio, no Oriente a localizao pre-
dominante no clon direito. Estas variaes na distribuio anatmica da DDC
suportam o conceito de uma base multifactorial da doena.
2. ETIOLOGIA / PATOGNESE
Os divertculos distribuem-se tipicamente em duas ou quatro fileiras paralelas. Este
padro est provavelmente relacionado com a penetrao de pequenas artrias (vasa
recta) que alimentam a mucosa do clon, induzindo debilidade relativa da tnica mus-
cular e facilitando, nesses pontos, a herniao da mucosa e da submucosa. Nas socie-
dades ocidentais, os diverticulos ocorrem sobretudo no clon esquerdo e particular-
mente na sigmide, a localizao preferencial (at 90% dos casos).
Os diverticulos podem ser nicos, ou atingir as centenas. Tm usualmente cerca 5-10
mm de dimetro, mas podem ultrapassar dimenses de 2 cm.
O exame macroscpico do clon com doena diverticular evidencia espessamento da
parede muscular e encurtamento das taenia coli, de que resulta uma disposio das
pregas em acordeo. No entanto, o estudo histolgico no indica a existncia de
hipertrofia muscular. Recentemente, em estudos de microscopia electrnica, verificou-
se que a parede clica da diverticulose tem clulas musculares estruturalmente nor-
mais. No entanto, entre essas clulas, h depsitos de elastina cerca de duas vezes
superiores aos padres normais. A elastina depositada na forma contrada, induzin-
do desse modo o encurtamento das taenia e o pregueamento das fibras musculares
circulares.
INTESTINO - Doena Diverticular do Clon
409
Durante muitos anos foi estudada a possibilidade da existncia de alteraes da moti-
lidade clica na gnese da DDC. Em comparao com grupos normais, verificou-se que
nesta doena ocorre aumento da presso luminal em condies basais, ps-prandiais
e aps estimulao com neostigmina.
Com base nestes achados, Painter et al. postularam a teoria da segmentao do
clon na patognese da DDC. A contraco das haustras induziria a formao de cma-
ras ao longo do lume do clon, que determinariam no s atraso no esvaziamento e
aumento na reabsoro de gua, mas tambm aumento da presso dentro dessas
cmaras, forando a mucosa a herniar.
Burkitt e Painter defenderam a teoria de uma origem diettica da DDC, postulando
que resultava de uma deficincia em fibra. Comparando indivduos no Reino Unido e
no Uganda, encontraram diferenas muito grandes nos tempos de trnsito clico e no
peso mdio das fezes. Nos Ugandeses, com um consumo muito mais elevado de fibra,
o tempo de trnsito era significativamente mais curto e bastante mais elevado o peso
mdio das fezes. O aumento do trnsito clico e a diminuio do volume fecal nos
ingleses, determinariam um incremento das presses intraluminais no clon, com pre-
disposio para herniao diverticular.
3. ESPECTRO CLNICO
A DDC apresenta um espectro clnico amplo, desde a diverticulose assintomtica, at
quadros de diverticulite complicada que podem colocar o doente em risco de vida.
Estima-se, felizmente, que s 5% dos indivduos com DDC apresentam sintomas que
obrigam a consulta mdica.
A grande maioria dos doentes com diverticulose no apresentam queixas. A diverticu-
lose pode dar sintomas numa fraco de doentes. Noutros casos, a doena diverticu-
lar complica-se de diverticulite, que por sua vez se pode complicar de abcesso, fistu-
lizao ou obstruo. Finalmente, h situaes de diverticulose que se complicam de
hemorragia. No grfico seguinte explicita-se o espectro clnico da doena diverticular
do clon:
Doenas do Aparelho Digestivo
410
A. DIVERTICULOSE
A1. Clnica
Como j referimos, a grande maioria dos doentes com diverticulose permanece intei-
ramente assintomtica. No existe evidncia que sustente a necessidade de recomen-
daes teraputicas ou de vigilncia peridica neste extenso segmento de doentes.
Entretanto, h uma pequena fraco de doentes com diverticulose que apresentam
queixas clnicas. a chamada diverticulose no complicada sintomtica. As queixas
abdominais so inespecficas. A maioria destes doentes tm dor habitualmente no
abdmen inferior, mais frequentemente esquerda. Por definio, no evidenciam
sinais de inflamao, designadamente febre ou leucocitose. A dor frequentemente
exacerbada com a alimentao e aliviada pela defecao. Podem ocorrer outros sin-
tomas associados: distenso abdominal, obstipao, diarreia ou emisso de muco nas
fezes. O exame fsico pode revelar hipersensibilidade no flanco e na fossa ilaca
esquerda, mas no existe defesa abdominal. Estes sintomas no especficos sobre-
pem-se aos da sindrome do clon irritvel, de tal forma que alguns autores defen-
dem que os diverticulos so consequncia desta sndrome.
No tocante ao diagnstico diferencial, a diverticulose pode confundir-se clinicamente
com o clon irritvel, mas importante igualmente no esquecer a hiptese do car-
DIVERTICULOSE
Assintomtica Hemorragia Diverticulite Sintomtica
Obstruo
Abcesso Fistula
Perfurao livre
ESPECTRO CLNICO DA DOENA DIVERTICULAR DO CLON
No complicada Complicada
INTESTINO - Doena Diverticular do Clon
411
cinoma colo-rectal, que pode apresentar sintomatologia clnica similar da diverticu-
lose, sobretudo quando esta se complica.
A2. Diagnstico
A colonoscopia e o clister opaco so os exames frequentemente utilizados na detec-
o da diverticulose. Quando esta no se encontra complicada, a colonoscopia facul-
ta uma informao mais completa e fivel no tocante coexistncia de leses asso-
ciadas, nomeadamente plipos ou cancro. Deve ser realizada por tcnico experiente,
utilizando judiciosamente a insuflao de ar. A experincia acumulada revela que o
clister opaco, indiscutivelmente um bom exame para a deteco da diverticulose, no
to apurado na revelao de leses associadas e na definio das complicaes
inflamatrias e hemorrgicas da DDC.
A3. Tratamento
O tratamento recomendado no doente com diverticulose sintomtica no complicada,
um regime diettico rico em fibra. A dose de fibra diria de 20-30 gr, em gua ou
sumos. H doentes que toleram menos bem esta posologia, sendo de considerar a
sua reduo e um complemento com agentes laxantes de volume, designadamente
preparados de psyllium. Este regime reduz a presso intraluminal clica e postula-se
que protege contra o desenvolvimento de novos diverticulos.
No est demonstrado o benefcio de agentes musculotrpicos ou de anticolinrgicos
na jugulao dos sintomas dolorosos da diverticulose sintomtica.
A diverticulose, sintomtica ou assintomtica, no tem indicao cirrgica. A cirurgia
deve reservar-se para situaes de doena diverticular complicada.
B. DIVERTICULITE
A diverticulite, definida como inflamao e/ou infeco associada diverticulose, a
complicao mais comum desta doena, afectando 10-25% dos doentes com diverti-
culos do clon.
O evento inicial uma microperfurao de um diverticulo, de que resultam fenme-
nos de peridiverticulite e/ou fleimo. a chamada diverticulite no complicada. Se o
processo inflamatrio persiste, pode evoluir para obstruo intestinal, perfurao
livre, fistula ou abcesso. a chamada diverticulite complicada.
Doenas do Aparelho Digestivo
412
B1. Diverticulite No Complicada
Clnica
A diverticulite aguda origina dor classicamente localizada no quadrante inferior
esquerdo, reflectindo a propenso para a localizao dos diverticulos no clon sig-
mide, nos pases ocidentais. A dor pode ser intermitente ou constante, associando-
se frequentemente a alteraes nos hbitos intestinais. A hematoqusia rara. Podem
ocorrer anorexia, nuseas e vmitos. A irritao da bexiga pelo clon sigmide infla-
mado origina disria e polaquiria.
No exame fsico, existe hiperestesia habitualmente no quadrante inferior esquerdo.
Pode detectar-se dor no ressalto, defesa abdominal e uma massa palpvel cilndrica.
O toque rectal pode despertar dor ou detectar uma massa dolorosa. A febre usual,
assim como a leucocitose.
No diagnstico diferencial da diverticulite aguda, devemos pensar nas seguintes enti-
dades:
Apendicite aguda
Doena de Crohn
Carcinoma do clon
Colite isqumica
Colite pseudomembranosa
lcera pptica complicada
Quisto, toro ou abcesso do ovrio
Gravidez ectpica.
Diagnstico
Rx simples do trax e abdmen
Pode facultar algumas informaes teis: pneumoperitoneu, situao cardio-pul-
monar, dilatao de ansas, leo, obstruo intestinal ou imagens sugestivas de
abcesso.
Tomografia computorizada (TC)
actualmente considerado um exame prioritrio pela informao diagnstica que
proporciona, e tambm pelas suas potencialidades teraputicas (drenagem de
abcesso).
Vrios estudos prospectivos revelaram que a TC tem uma sensibilidade de 69-95%
e uma especificidade de 75-100% no estudo da diverticulite aguda, geralmente
superior aos exames de contraste. Nos doentes seriamente afectados, ou em que
h dvidas no diagnstico, e tambm nos casos em que ocorreu deteriorao cl-
INTESTINO - Doena Diverticular do Clon
413
nica, a TC um exame prioritrio. Importa acentuar, no entanto, que um exame
negativo no exclui o diagnstico de diverticulite aguda.
Clister Opaco
Continua a ser um exame til em certas situaes, complementando a informao
da TC. No deve ser realizado com brio, nem com duplo contraste (perigo de peri-
tonite ou perfurao). Pode revelar extravasamento de contraste, fistulas, diverti-
culose extensa, espasmo, espessamento da mucosa, massa extraluminal compri-
mindo ou deslocando o clon.
Ecografia
No tem a eficcia da TC e operador-dependente. um exame de 2 linha, til
por exemplo na mulher para excluso de patologia plvica/ginecolgica.
Endoscopia
Geralmente evitada como meio inicial de diagnstico, dado o risco de perfura-
o. A sua utilizao deve limitar-se s situaes em que o diagnstico de diverti-
culite no claro, sendo igualmente til para excluir outros diagnsticos, nomea-
damente DII, carcinoma ou colite isqumica.
Tratamento
Uma das decises iniciais na diverticulite no complicada envolve a determinao da
necessidade de hospitalizao. Em geral, os doentes idosos ou imunodeprimidos, os
que apresentam doenas severas associadas, e os que tm febre elevada e leucocito-
se significativa, devem ser hospitalizados. Os doentes que evidenciam sintomas ligei-
ros, sem sinais peritoneais, com possibilidade de ingesto de fluidos e de suporte
domstico, podem realizar tratamento ambulatrio.
Neste ltimo caso, deve prescrever-se uma dieta lquida e antibioterpia oral de largo
espectro, com actividade contra anaerbios e agentes Gramnegativos (particular-
mente E. coli e B. fragilis). Uma quinolona com metronidazole, sulfametoxazole-trime-
toprim com metronidazole, ou amoxicilina + cido clavulnico, so propostas terapu-
ticas recomendadas. O doente deve ser objecto de vigilncia apertada. Em geral, a
melhoria sintomtica ocorre dentro de 2-3 dias, altura em que a dieta pode ser mais
liberal. A antibioterpia deve prosseguir durante 7-10 dias.
Nos doentes que requerem hospitalizao por diverticulite aguda, deve promover-se
o repouso intestinal (dieta zero), e prescrever-se fluidoterpia para manter ou restau-
rar o volume intravascular e o balano electroltico. Alm disso, deve iniciar-se anti-
bioterpia endovenosa, visando sobretudo a flora anaerbia e Gram-negativa do
clon. Para a cobertura contra anaerbios deve utilizar-se o metronidazole ou a clin-
damicina. Para os agentes Gram-negativos, deve prescrever-se um aminoglicosdeo
Doenas do Aparelho Digestivo
414
(por ex. gentamicina ou tobramicina), ou uma cefalosporina de terceira gerao (por
ex. ceftazidima ou cefotaxime). Usualmente h melhoria clnica dentro de 2-4 dias,
altura em que pode iniciar-se uma dieta branda. Se a melhoria consolida, pode ser
dada alta ao doente, mas a antibioterpia deve ser prosseguida, por via oral, at per-
fazer 10 dias de tratamento. Se no ocorre melhoria com a teraputica mdica insti-
tuda, provvel que tenha surgido uma complicao, ou esteja em causa outro diag-
nstico.
A maioria dos doentes hospitalizados por diverticulite aguda respondem teraputi-
ca mdica conservadora, mas estima-se que 15-30% vo requerer interveno cirrgi-
ca durante o internamento, com uma aprecivel taxa de mortalidade. A perfurao livre
com peritonite generalizada a complicao mais temvel, exigindo interveno cirr-
gica urgente com elevada mortalidade operatria (at 35%).
Um problema clnico importante, em termos de prognstico, envolve a probabilidade
de recorrncia de episdios de diverticulite e o papel da resseo cirrgica electiva
profilctica. O risco de recorrncia de sintomas envolve cerca de um tero a um quar-
to dos doentes. A recidiva sintomtica responde pior teraputica mdica e tem maior
mortalidade. Por isso, muitos autores defendem que a resseo electiva est indica-
da aps dois episdios de diverticulite aguda no complicada; no entanto, esta reco-
mendao tem sido questionada. A anlise risco/beneficio de uma atitude cirrgica
electiva deve ser avaliada caso a caso. O advento da cirurgia laparoscpica tem sus-
citado maior interesse e afoiteza na opo pela sano cirrgica, sobretudo em doen-
tes jovens (< 50 anos de idade) e em doentes imunodeprimidos. Cerca de 10% dos
doentes operados, tm recorrncia sintomtica, por diverticulite. Em cerca de 3%
deste grupo com recidiva ps-operatria, h necessidade de reoperar.
B2. DIVERTICULITE COMPLICADA
ABCESSO
Quando ocorre perfurao de um diverticulo do clon, a disseminao do processo
inflamatrio vai ditar a evoluo clnica subsequente e o tratamento. Se esse proces-
so limitado, desenvolve-se um fleimo localizado. Se ocorre maior disseminao,
surgem abcessos maiores ou mais distantes. A peritonite generalizada acontece rara-
mente.
Os sinais clnicos sugestivos de formao de abcesso incluem febre persistente e/ou
leucocitose, apesar de antibioterpia intravenosa, ou uma massa dolorosa no exame
fsico. A tomografia computorizada o melhor exame para efectuar um diagnstico
definitivo de abcesso e seguir a sua evoluo. Alm disso, constitui um excelente
mtodo para a efectivao de drenagem percutnea do abcesso.
INTESTINO - Doena Diverticular do Clon
415
O tratamento do abcesso diverticular deve ser individualizado. Os pequenos abcessos
periclicos (estdio I) so frequentemente tratados com antibioterpia e repouso
intestinal. Quando a cirurgia necessria, a resseo em bloco com reanastomose pri-
mria o mtodo mais utilizado.
Nos casos de abcessos a distncia ou periclicos grandes, est indicada a drenagem
percutnea orientada pela TAC, que controla rapidamente o quadro sptico e estabi-
liza o doente. uma medida prvia cirurgia de resseo, efectuada cerca de 3-4
semanas depois. EM 20-25% dos casos a drenagem anatomicamente inacessvel ou
no bem sucedida, pelo que h necessidade de avanar desde logo para a cirurgia.
FISTULA
Quando um fleimo diverticular ou um abcesso se estende ou rompe para rgos
adjacentes, podem ocorrer fistulas. A fistula mais frequente a colovesical (cerca de
65%). A pneumatria e a fecalria so sintomas comuns. A cistoscopia, a cistografia
e o clister opaco so exames teis para o diagnstico. Em cerca de 75% dos doentes
possvel realizar resseo operatria num s tempo, com encerramento da fistula.
A fistula colovaginal a segunda mais frequente (cerca de 25%). A passagem de fezes
pela vagina patognomnica. O tratamento cirrgico, com encerramento da fistula.
Muito mais raramente podem ocorrer fistulas coloenterais, colouterinas e colorectais.
OBSTRUO
A obstruo pode ser uma complicao da DDC aguda ou crnica. Nos episdios de
diverticulite aguda, pode ocorrer obstruo clica parcial por aperto luminal ditado
pela inflamao periclica e/ou compresso por abcesso. A obstruo total rara.
Pode tambm ocorrer leo do clon ou pseudo-obstruo. Estas situaes melhoram
com a teraputica mdica. Se a obstruo no cede a esta teraputica, h necessida-
de de ponderar a hiptese de sano cirrgica.
Episdios recorrentes de diverticulite, muitas vezes sub-clnicos, podem iniciar um
processo de fibrose progressiva e estenose da parede clica, na ausncia de inflama-
o. Nesses casos, pode surgir um quadro de obstruo completa que exige repara-
o cirrgica. No rara uma apresentao mais insidiosa, com sintomas no espec-
ficos. Frequentemente, o clister opaco evidencia uma zona estenosada, sendo difcil
definir a sua natureza benigna ou maligna. Nesses casos, o exame colonoscpico com
bipsia possibilita, em cerca de 70% dos casos, um diagnstico exacto. Se h dvi-
das quanto natureza da estenose, deve avanar-se para resoluo cirrgica.
Doenas do Aparelho Digestivo
416
C. HEMORRAGIA
Os diverticulos e as ectasias vasculares so responsveis pela maioria dos episdios
de hemorragias digestivas baixas. Em sries recentes, a hemorragia diverticular repre-
senta a etiologia identificada mais comum, compreendendo 24-42% desses episdios.
Em 3-5% dos doentes com diverticulose, a hemorragia severa. Apesar de a maioria
dos diverticulos se localizarem no clon esquerdo, nos pases ocidentais, a hemorra-
gia diverticular tende a ocorrer mais frequentemente no clon proximal.
Dados recentes atribuem aos AINEs um papel importante na ecloso de quadros
hemorrgicos diverticulares.
A hemorragia diverticular arterial. determinada pela rotura dos vasa recta, sendo
desconhecidos os factores que a determinam. A inflamao no constitui seguramen-
te um factor importante, uma vez que a hemorragia raramente complica um quadro
de diverticulite aguda.
O incio da hemorragia diverticular usualmente abrupto e indolor. O doente pode ter
dores ligeiras no abdmen inferior, seguidas de urgncia na defecao, com passa-
gem de um volume varivel de sangue vermelho acastanhado, ou de cogulos. A mele-
na rara. A hemorragia cessa espontaneamente em 70-80% dos casos. A taxa de
recorrncia situa-se entre 20-38%. A hiptese de uma terceira hemorragia aps um
segundo episdio pode atingir os 50%, pelo que alguns autores recomendam a inter-
veno cirrgica aps um segundo episdio hemorrgico.
Aps ressuscitao e estabilizao hemodinmica, o doente deve ser submetido a
exame endoscpico (sigmoidoscopia ou colonoscopia) para identificao da natureza
e do local da leso hemorrgica. Se o estudo endoscpico falha, e se a hemorragia
persiste, devem realizar-se outros exames, designadamente a angiografia e a cintigra-
fia nuclear.
Alguns autores tm evidenciado bons resultados na jugulao da hemorragia median-
te a aplicao de teraputica endoscpica hemosttica, utilizando vrios mtodos
(injeco de adrenalina, sonda trmica, electrocoagulao multipolar, colas de fibrina).
A cirurgia na hemorragia gastrointestinal baixa usualmente reservada para as situa-
es de insucesso da teraputica mdica, endoscpica ou angiogrfica. A resseco
segmentar deve realizar-se quando se localizou definitivamente a fonte hemorrgica,
mediante a colaborao endoscpica ou angiogrfica. Nesses casos, a taxa de recidi-
va hemorrgica ps-cirurgia baixa, rondando os 6%.
INTESTINO - Doena Diverticular do Clon
417
Doenas do Aparelho Digestivo
418
REFERNCIAS
Smith NA. Diverticular Diesase of the Colon. In: Phillips SF,Pemberton JH, Shorter RG (Eds). The Large Intestine. Raven Press 1991: 549-578.
Simmang CL, Tom Shires III G. Diverticular Disease of the Colon. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MN (Eds).
Sleisenger & Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease. W.B. Saunders Co. 1998: 1788-1797.
Matthews JB. Treatment of Diverticular Disease of the colon. In: Wolfe NM (Ed). Therapy of Digestive Disorders.
W.B. Saunders Co. 2000: 617-628.
Stollman NH, Raskin JB. Diverticular Disease of the Colon. J Clin Gastroenterol 199; 29 (3): 241-252.
Painter NS, Burkitt DP. Diverticular disease of the colon: a deficiency disease of western civilization. BMJ 1971; 2: 450-4.
Reinus JF, Brandt LJ. Vascular ectasias and diverticulosis: common causes of lower intestinal bleeding.
Gastroenterolo Clin North Am 1994; 23: 1-20.
Aldoori WH, Giovannuci EL, Rimm EB et al. Prospective study of physical activity and the risk of symptomatic diverticular disease in man.
Gut 1995; 36: 276-282.
Shinya H. Colonoscopy: diagnosis and treatment of colonic diseases. Igaku-Shoin 1982: 77-82.
Otte JJ, Larsen L. Anderson JR. Irritable bowel syndrome and symptomatic diverticular disease different diseases?
Am J Gastroenterol 1986; 81: 529-31.
Brodribb AJM. Treatment of symptomatic diverticular disease with a high fibre diet. Lancet 1977; 1: 664-5.
Ambrosetti P, Robert JH, Witzig J et al. Acute left colonic diverticulitis: a prospective analysis of 226 consecutive cases.
Surgery 1994; 115: 546-50.
MC Kee RF, Deignan RW. Radiological investigation in acute diverticulitis. Br J Surg 1993; 80: 560-5.
The Standards Task Force of the American Society of Colon and Rectal Surgeons. Practice parameters for sigmoid diverticulitis supporting
documentation. Dis Colon Rectum 1995; 38: 126-32.
Shrier D, Skucas J, Weiss S. Diverticulitis: an evaluation by computed tomography and contrast enema.
Am J Gastroenterol. 1991; 86: 1466-71.
Pradel JA, Adell J-F, Taourel P et al. Acute colonic diverticulitis: prospective comparative evaluation with US and CT.
Radiology 1997; 205: 503-12.
Parks TG. Natural history of diverticular disease of the colon: a review of 521 cases. BMJ 1969; 4: 639-45.
Munson KD, Hensien MA, Jacob LN et al. Diverticulitis: a comprehensive follow-up. Dis Colon Rectum 1996; 39: 318-322.
Franklin ME, Dorman JP, Jacobs M et al. Is laparoscopic surgery applicable to complicated colonic diverticular disease?
Surg Endosc 1997; 11: 1021-5.
Vignati PU, Welch JP, Cohen JL. Long-term management of diverticulitis in young patients. Dis Colon Rectum 1995; 38: 627-9.
MC Guire HH. Bleeding colonic diverticula: a reappraisal of natural history and management. Ann Surg 1994; 220: 653-6.
Wong SK, HO YH, Leong APK et al. Clinical behavior of complicated right-sided and left-sided diverticulosis.
Dis Colon Rectum 1997; 40: 344-8.
Zuccaro G. Management of the adult patient with acute lower gastrointestinal bleeding. Practice guidelines.
Am J Gastroenterol 1998; 93: 1202-8.
Mauldin JL. Therapeutic use of colonoscopy in active diverticular bleeding. Gastroint Endosc 1985; 31: 290-1.
Camilleri M, Lee JS, Viramontes B, Bharucha AE, Tangalos EG. Insights into the pathophysiology and mechanisms of constipation,
irritable bowel syndrome, and diverticulosis in older people. J Am Geriatr Soc. 2000 Sep;48(9):1142-50.
Bergamaschi R. Laparoscopic surgery for uncomplicated diverticulitis: advantages? Scand J Gastroenterol. 2000 May;35(5):449-51.
Jouet P, Coffin B, Cuillerier E, Soule JC, Flourie B, Lemann M. Colonic motility in humans. Recent physiological, pathophysiological and
pharmacological data. Gastroenterol Clin Biol. 2000 Mar;24(3):284-98.
Wolff BG, Devine RM. Surgical management of diverticulitis. Am Surg. 2000 Feb;66(2):153-6.
Rowling SE, Jacobs JE, Birnbaum BA. Thin-section CT imaging of patients suspected of having appendicitis or diverticulitis.
Acad Radiol. 2000 Jan;7(1):48-60.
INTESTINO - Plipos e Sndromes de Polipose do Clon e Recto
419
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XIX
PLIPOS E SNDROMES DE POLIPOSE DO CLON E RECTO
1. Plipos
2. Sndromes de Plipose
419
Doenas do Aparelho Digestivo
1. PLIPOS
A. PATOMORFOLOGIA
O termo plipo utilizado para descrever qualquer leso circunscrita que se projec-
ta acima da superfcie da mucosa circundante. Os plipos variam no tocante confi-
gurao, dimenses e aspecto da superfcie, podendo ser ssseis ou pediculados.
Embora a aparncia macroscpica de alguns plipos seja bastante caracterstica, s o
estudo histolgico fidedigno na avaliao da sua natureza. Os vrios tipos de pli-
pos diferem no seu significado clnico e sobretudo no potencial maligno, de forma que
o diagnstico histopatolgico essencial para o tratamento do caso individual.
Os plipos do clon dividem-se em dois grandes grupos: neoplsicos e no neopl-
sicos, conforme se discrimina no quadro seguinte:
INTESTINO - Plipos e Sndromes de Polipose do Clon e Recto
421
Leses neoplsicas da mucosa
Benignas (adenoma)
Adenoma tubular
Adenoma tubulo-viloso
Adenoma viloso
Malignas (carcinoma)
Carcinoma no invasivo
Carcinoma in situ
Carcinoma intramucoso
Carcinoma invasivo (ultrapassou a muscularis mucosae)
Leses no neoplsicas da mucosa
Plipos hiperplsicos (ou metaplsicos)
Epitlio normal (com configurao polipide)
Plipo juvenil
Plipo de Peutz-Jeghers
Plipo inflamatrio
DII
Infeces bacterianas
Amibase
Esquistossomase
Leses da submucosa
Colite qustica profunda
Pneumatosis cystoides intestinalis
Plipo linfide (benigno ou maligno)
Lipoma
Carcinide
Metstase de neoplasia
CLASSIFICAO DOS PLIPOS DO CLON E RECTO
B. ADENOMAS
Os plipos adenomatosos so tumores neoplsicos benignos da mucosa, pediculados
ou ssseis. Histolgicamente dividem-se em adenomas tubulares, os mais frequentes,
tubulo-vilosos e vilosos, sendo estes os mais raros. De facto, os adenomas tubulares
compreendem cerca de 80-86% dos adenomas, os tubulo-vilosos surgem em 8-16%,
e os vilosos em 3-16%. Cerca de 70% dos plipos removidos por polipectomia endos-
cpica so adenomas.
Por definio, todos os adenomas so displasias, que podem ser graduadas em trs
categorias: grau ligeiro, moderado ou severo. A displasia ligeira encontra-se em 70-
86% dos plipos adenomatosos, a displasia moderada em 18-20%, e a displasia seve-
ra (carcinoma in situ) em 5-10%.
Do ponto de vista prtico, no tocante s dimenses os adenomas classificam-se em
trs grupos: <1 cm, 1-2 cm e > 2 cm. A maioria dos adenomas tm dimenses <1 cm.
H formaes polipides minsculas (<5 mm) frequentemente detectadas no exame
endoscpico. Embora 30-50% destas microformaes tenham uma textura adenoma-
tosa, vrios estudos revelaram que no se revestem de especial interesse biolgico
ou clnico.
Existe evidncia muito consistente de que a maioria dos carcinomas do clon provm
de plipos adenomatosos previamente benignos. As trs caractersticas dos adenomas
correlacionadas com o potencial maligno so a dimenso do plipo, o seu tipo histo-
lgico e o grau de displasia. Quanto maior for o adenoma, mais vilosa a sua histolo-
gia e mais severo o grau de displasia, maior ser a possibilidade de degenerescncia
maligna.
Existe um sub-tipo de adenomas, apelidados de adenomas planos que tm recebido
especial ateno. Trata-se de adenomas totalmente planos, ou contendo uma depres-
so central, pelo que verdadeiramente no so plipos. Usualmente inferiores a 1 cm,
podem ser mltiplos e compreendem cerca de 10% de todos os adenomas. A histria
natural desta variante do adenoma no bem conhecida. possvel que estes ade-
nomas planos sejam precursores dos chamados carcinomas de novo, isto , que no
passaram por uma fase intermdia de plipo adenomatoso.
A chamada cripta aberrante actualmente considerada uma leso pr-maligna. Pode
ser identificada mediante endoscopia de ampliao complementada por colorao da
mucosa com azul de metileno. Estas criptas aberrantes podem ser displsicas, sendo
consideradas por vrios autores precursoras de adenomas.
Relativamente sua histognese, pensa-se que os adenomas resultam de uma faln-
cia no processo normal de proliferao celular e de apoptose. A aberrao inicial teria
lugar numa nica cripta do clon, e consistiria na expanso do compartimento de pro-
Doenas do Aparelho Digestivo
422
liferao celular ao longo de toda a cripta. Segundo esta hiptese, o adenoma resul-
taria da expanso monoclonal de uma clula anormal, teoria que no consensual-
mente admitida.
Como referimos, actualmente aceite que a maioria dos carcinomas do clon tm ori-
gem em adenomas. H evidncia epidemiolgica, clinicopatolgica e de gentica mole-
cular que suporta esta teoria. Esta hiptese adenoma-carcinoma ser analisada mais
detalhadamente no ltimo captulo deste livro sobre Cancro do clon e do recto.
1 EPIDEMIOLOGIA
A prevalncia dos adenomas colo-rectais afectada por dois factores major: idade do
indivduo e grau de risco de carcinoma colo-rectal na populao onde se insere.
Quanto maior a prevalncia de cancro do intestino grosso numa dada regio, maior
ser tambm a prevalncia de adenomas. Por outro lado, a idade o factor indepen-
dente mais determinante na prevalncia de adenomas, quer em zonas de alto risco
ou de baixo risco. Quanto mais avanada for a idade, maior ser a prevalncia do ade-
noma, o seu nmero, a sua dimenso e a sua severidade histolgica.
Dois estudos recentemente apresentados, que incluram a realizao de colonoscopias
em indivduos assintomticos, com idade entre 50 e 82 anos, indicaram a existncia
de adenomas em 23% e 25%, respectivamente.
Em sries de autpsia, apurou-se uma taxa de prevalncia de adenomas de 12% em
populaes de baixo risco para cancro do clon. Nas populaes de mdio e de alto
risco, essas percentagens chegaram a atingir 50-60%.
Relativamente sua distribuio anatmica, verificou-se, em sries de autpsia, uma
distribuio uniforme em todo o clon e recto, distribuio confirmada em exames
colonoscpicos de indivduos assintomticos. Por outro lado, apurou-se que os ade-
nomas de maiores dimenses tendem a localizar-se na zona distal do intestino gros-
so.
2 FACTORES DE RISCO
Admitem-se actualmente vrios factores de risco de susceptibilidade para o adenoma:
(a) Gentica.
(b) Dieta e estilo de vida:
Risco : consumo de fibra, vegetais, hidratos de carbono, folato, aspirina e
AINEs (?).
INTESTINO - Plipos e Sndromes de Polipose do Clon e Recto
423
Risco : consumo de gordura, lcool, tabaco, inactividade fsica, obesidade.
(c) Condies associadas com plipos adenomatosos:
Ureterosigmoidostomia
Acromeglia
Bacterimia e endocardite pelo streptococcus bovis
Ateroesclerose (?)
Cancro da mama (?)
Colecistectomia (?)
3 DIAGNSTICO
Sintomas e sinais
A maioria dos doentes com plipos do clon no tm sintomas, ou apresentam sin-
tomas no especficos. A queixa clnica mais comum a rectorragia ou a presena de
sangue oculto nas fezes. Outros sintomas que tm sido atribudos a estas leses so
a obstipao, a diarreia e a flatulncia. Quadros de invaginao intermitente podem
originar dor abdominal violenta.
Nos doentes com adenomas vilosos pode surgir uma sndrome de diarreia secretora
com depleco hidro-electroltica severa. Os tumores que produzem esta sindrome so
usualmente grandes (>3-4 cm) e quase sempre localizados no recto ou na rectosigmi-
de.
Deteco dos adenomas
Usualmente os adenomas so detectados em indivduos assintomticos submetidos a
programas de rastreio, ou so um achado fortuito em doentes submetidos a investi-
gaes por queixas intestinais ou por apresentarem anemia ferripriva. So os seguin-
tes os mtodos que podem levar identificao de plipos adenomatosos colorec-
tais:
(1) Pesquisa de sangue oculto nas fezes
difcil determinar a real frequncia de hemorragia digestiva baixa por adenomas.
Nas rectorragias francas, a percentagem de adenomas como causa da hemorragia
no ultrapassa os 10%. Em geral, os plipos <1 cm no sangram.
Quando se procede pesquisa qualitativa de sangue nas fezes, utilizando um dos
testes usuais (por ex. Hemoccult), s 20-40% dos doentes positivos tm adeno-
mas do clon ou do recto. Por outro lado, muito elevada a percentagem de fal-
Doenas do Aparelho Digestivo
424
sos negativos utilizando estes testes de guaiaco, podendo atingir os 75%. Por
isso, a pesquisa de sangue oculto nas fezes deve ser complementada pelo exame
endoscpico.
(2) Pansigmoidoscopia
A pansigmoidoscopia flexvel substituiu gradualmente a rectoscopia rgida, no s
no mbito de planos de rastreio como na rotina clnica. Nos indivduos assintom-
ticos, com idades >40 anos, a rectoscopia rgida detecta plipos em cerca de 7%
dos casos. A sigmoidoscopia flexvel detecta 10-15% de plipos neste tipo de
populao. Trata-se de um exame essencialmente vocacionado para rastreio.
(3) Clister opaco
Um clister opaco com duplo contraste tem uma sensibilidade de 85%-95% na
deteco de pequenos plipos. A preparao inadequada do clon pode originar
5-10% de falsos positivos, e a presena de diverticulose ou de um clon redun-
dante podem induzir cerca de 10% de falsos negativos.
(4) Colonoscopia
o exame actualmente preferido na deteco de plipos porque apresenta maior
acuidade do que o clister opaco, tendo ainda potencialidades teraputicas. Apesar
de ser considerada o gold standard na deteco de adenomas, a colonoscopia
tem algumas limitaes: (a) no atinge o cego em cerca de 10% dos casos; (b) por
vezes necessita de sedao do doente; (c) operador dependente.
4 TRATAMENTO
Tendo em conta que a sequncia adenoma-carcinoma suportada em comprovao
cientfica indiscutvel, a maioria dos doentes com plipos detectados por clister opaco
ou pansigmidoscopia, devem ser submetidos a colonoscopia para exciso do plipo
e pesquisa de neoplasias adicionais. A incidncia de adenomas sincrnicos nos doen-
tes com um adenoma confirmado, de 30-50%.
A maioria dos plipos diagnosticados durante o exame colonoscpico, podem ser
totalmente removidos por tcnicas de electrofulgurao endoscpica. A resseco
cirrgica s est indicada quando um endoscopista experimentado incapaz de res-
secar um adenoma avanado, ou quando um plipo maligno requer resseco parcial
do clon.
Quando a sigmoidoscopia detecta um plipo minsculo (<5 mm), deve realizar-se bi-
psia para definir a sua natureza. Se se trata de um plipo hiperplsico, no h neces-
sidade de vigilncia ulterior.
INTESTINO - Plipos e Sndromes de Polipose do Clon e Recto
425
Quanto importncia clnica do achado de um ou dois plipos adenomatosos tubu-
lares com dimenses <1 cm, ainda no existe consenso sobre a questo. Trabalhos
recentes apontam no sentido da adopo de uma estratgia flexvel e individualiza-
da. Segundo esses estudos, a colonoscopia total no ter especial interesse nessa
situao, nem para a deteco de neoplasias sincrnicas, nem para a identificao de
leses neoplsicas metacrnicas.
Os plipos ssseis de grandes dimenses (>2 cm) devem ser objecto de especial cui-
dado. Nem sempre possvel a sua resseco endoscpica numa nica sesso. Devem
ser vigiados at sua exrese total. Se esse desiderato no for conseguido, deve soli-
citar-se apoio cirrgico.
Outro problema especial suscitado pelo plipo maligno, isto , o plipo que con-
tm clulas cancerosas que penetraram atravs da muscularis mucosae at submu-
cosa. Aps a resseco endoscpica de um plipo maligno, a recomendao actual
no tomar outra atitude desde que estejam satisfeitos os seguintes critrios: (1) O
plipo foi totalmente excisado pelo endoscopista e enviado in toto para estudo his-
tolgico; (2) O cancro bem diferenciado; (3) No h envolvimento linftico ou vas-
cular; (4) As margens do corte no esto infiltradas por tecido neoplsico.
Aps a realizao da polipectomia endoscpica, fundamental estabelecer uma estra-
tgia de vigilncia, na medida em que os doentes com histria de adenoma colorec-
tal tm um risco acrescido de desenvolvimento de novos adenomas (metacrnicos) ou
de carcinoma. Consoante os intervalos de vigilncia, a literatura refere taxas de inci-
dncia de adenomas adicionais variando entre 12% a 60%. As dimenses dos adeno-
mas excisados, o seu nmero, a sua estrutura histolgica e o grau de displasia, so
factores que vo determinar a melhor estratgia de vigilncia, que poder ser equa-
cionada da seguinte forma:
Doenas do Aparelho Digestivo
426
C. PLIPOS NO NEOPLSICOS
Os plipos hiperplsicos, denominados tambm de metaplsicos por alguns autores,
so os plipos no neoplsicos mais comuns. So usualmente pequenos (<5 mm),
raramente excedendo os 10 mm. No evidenciam potencial maligno, a no ser nas
situaes em que, histolgicamente, coexistem caractersticas de plipo hiperplsico
e plipo adenomatoso (adenomas serreados). Em exames colonoscpicos de indiv-
duos assintomticos com idade superior a 50 anos, os plipos hiperplsicos com-
preendem pelo menos 10% dos plipos detectados. Para alguns autores, a prevaln-
cia seria bem maior (25-30%), uma vez que, na observao endoscpica convencio-
nal, impossvel distinguir entre plipos hiperplsicos e adenomas. O tratamento des-
tas leses idntico: polipectomia endoscpica. O achado de um plipo hiperplsico
no clon distal, no justifica a realizao ulterior de uma colonoscopia total, nem a
integrao do doente num programa de vigilncia.
POLIPECTOMIA
Adenoma (s) Plipo no neoplsico
Colonoscopia
cada 3-5 anos
Colonoscopia
cada 3-5 anos
Colonoscopia
dentro de 3 anos*
nico
Dimenso <1 cm
Tubular
Displasia: baixo
grau
Mltiplos
Viloso
Displasia: alto grau
Dimenso 1 cm
Intervalo mais curto (3 - 12 meses) em caso de: plipo maligno, adenoma sssil grande, adenomas mltiplos
Vigilncia dispensvel
INTESTINO - Plipos e Sndromes de Polipose do Clon e Recto
427
Os plipos juvenis so leses aparentemente adquiridas, sendo mais frequentemente
detectados entre as idades de 1 a 7 anos. Usualmente regridem espontaneamente.
So habitualmente nicos, usualmente pediculados e tm dimenses entre 3 mm e 2
cm. Dado que se localizam preferentemente no recto, podem prolapsar durante a defe-
cao. Alm disso, porque so muito vascularizados, podem originar rectorragias. Por
essas razes, devem ser submetidos a polipectomia endoscpica. Embora os plipos
juvenis nicos no evidenciem potencial maligno, quando so mltiplos (ver adiante
Polipose juvenil) h risco de malignizao.
O plipo Peutz-Jeghers uma leso hamartomatosa. Quase sempre so mltiplos,
sendo raramente encontrados no clon excepto no contexto da polipose generaliza-
da da sindrome de Peutz-Jeghers.
Os plipos inflamatrios (pseudoplipos), encontram-se nas fases regenerativas e de
cicatrizao da inflamao. Podem ser grandes e solitrios, mimetizando uma massa
neoplsica. Quando so mltiplos, simulam um processo de polipose. Podem ocorrer
em qualquer forma de colite severa: DII, colite amibiana, esquistossomase, disente-
ria bacteriana.
So vrias as leses da submucosa que podem apresentar, no exame endoscpico,
uma configurao polipide: colite qustica profunda, pneumatosis cystoides intesti-
nalis, plipos linfides lipomas, carcinides, metstases de neoplasias (especialmen-
te o melanoma), fibromas, leiomiomas, hemangiomas, endometriose.
2. SINDROMES DE POLIPOSE
As sindromes de polipose so diferenciadas com base em critrios histolgicos e cl-
nicos. H formas hereditrias e no hereditrias. Por sua vez, as formas hereditrias
podem ser divididas em dois grupos: as definidas pela presena de plipos adeno-
matosos, e as que exibem mltiplos plipos hamartomatosos. As sindromes de poli-
pose gastrointestinal so deste modo classificadas de acordo com o quadro seguin-
te:
Doenas do Aparelho Digestivo
428
A. Polipose adenomatosa familiar (PAF)
1. Epidemiologia
As estimativas da frequncia de PAF variam de 1 em 6850 indivduos, a 1 em 30.000.
A frequncia constante em todo o mundo. No h diferenas na prevalncia por
sexo. Cerca de 0.5% dos cancros colo-rectais tm origem na PAF.
2. Etiologia
A PAF uma doena autossmica dominante caracterizada pelo desenvolvimento de
mais de 100 plipos no clon e por vrias manifestaes extra-intestinais.
O local provvel para a localizao do gene da PAF foi descoberto em 1986, confir-
mando-se que se situava no brao longo do cromossoma 5. Em 1991 foi conseguida
a clonagem deste gene, universalmente designado de APC (adenomatous polyposis
coli).
Com a descoberta de que as mutaes germinais no gene APC determinam a forma-
o de centenas ou milhares de adenomas no clon, alguns dos quais evoluem de
pequenos tumores benignos para carcinomas, ficou evidenciado o papel deste gene
na iniciao tumoral. Presume-se que as mutaes no gene APC constituem o defeito
gentico em pelo menos 80% dos casos de PAF.
Actualmente possvel pesquisar as mutaes germinais no gene APC mediante a uti-
lizao de vrias tcnicas: teste das protenas truncadas (PTT), amplificao por PCR
INTESTINO - Plipos e Sndromes de Polipose do Clon e Recto
429
SINDROMES DE POLIPOSE HEREDITRIA
Sindromes de polipose adenomatosa
Polipose adenomatosa familiar
Sndrome de Gardner
Sndrome de Turcot
Polipose clica adenomatosa atenuada
Sindromes de polipose hamartomatosa
Sndrome de Peutz-Jeghers
Polipose familiar juvenil
Outras sndromes raras
SINDROMES DE POLIPOSE NO HEREDITRIA
Sindrome de Cronkite-Canada
Hiperplasia nodular linfide
Polipose linfomatosa
Polipose hiperplsica
Polipose inflamatria
SINDROMES DE POLIPOSE GASTROINTESTINAL
e outras. Mais de metade das mutaes localizam-se na regio 5 do exo 15.
Em cerca de 20% das famlias PAF no se encontram mutaes, provavelmente por-
que existem outros genes candidatos, cujas mutaes podem originar tambm o fen-
tipo PAF. Entre eles, assume actualmente particular interesse o gene da -catenina.
A agressividade da PAF correlaciona-se, de um modo geral, com o tipo e localizao
das mutaes no gene APC. As protenas mutantes de maior dimenso determinam
um fentipo mais severo.
Existe uma forma menos agressiva de PAF, denominada polipose adenomatosa fami-
liar atenuada (PAFA) que se caracteriza por muito poucos plipos, mas com risco de
cancro colo-rectal. Nesta variante, as mutaes situam-se essencialmente nos exes 3
e 4.
3. Clnica
A caracterstica essencial da expresso fenotpica da PAF a presena de 100 ou mais
plipos adenomatosos colo-rectais.
A polipose desenvolve-se usualmente na 2 ou 3 dcadas da vida, mas pode surgir
mais precocemente. raro ocorrer aps os 40 anos de idade. Cerca de 90% dos pli-
pos apresentam dimenses inferiores a 0.5 cm. So usualmente plipos de estrutura
tubular, indistinguveis dos adenomas espordicos. Por vezes observam-se microade-
nomas nas criptas e focos de criptas aberrantes.
A no ser que o clon seja removido, o adenocarcinoma a consequncia inevitvel
da PAF. Na srie do hospital londrino de St. Mark, incluindo um registo de 617 indiv-
duos de 300 famlias com PAF, a idade mdia de diagnstico de cancro foi de 39 anos.
Pelos 45 anos de idade, 87% tinham desenvolvido carcinoma do clon, e pelos 50
anos, 93%. Em 48% dos que desenvolveram cancro, existiam carcinomas mltiplos no
clon.
Em 30-100% dos doentes com PAF existem plipos gstricos, usualmente na zona fn-
dica e no corpo. Histologicamente so plipos das glndulas fndicas, qusticos, por
vezes muito numerosos, aparentemente sem tendncia para malignizao. Podem sur-
gir tambm adenomas, quase sempre confinados regio antral.
Em 46-93% dos doentes com PAF existem plipos duodenais. So adenomas mlti-
plos, com 1-5 mm de dimetro e usualmente assintomticos. Por vezes so grandes,
com uma estrutura vilosa. Estes plipos duodenais tm potencial maligno.
Doenas do Aparelho Digestivo
430
Nos doentes com PAF, a incidncia de cancro do duodeno varia entre 4-12%, 300
vezes superior ao da populao geral. Cerca de 50% dos doentes com PAF eviden-
ciam alteraes adenomatosas na papila de Vater, localizando-se nesta estrutura cerca
de um tero dos carcinomas do duodeno em doentes com PAF.
Trabalhos japoneses reportam adenomas do jejuno e do leo, em percentagens que
atingem os 40% e 20%, respectivamente, embora seja pouco usual a transformao
maligna.
4. Rastreio e diagnstico
Os filhos de pais afectados pela doena devem ser alvo de rastreio regular para detec-
o da emergncia de polipose. suficiente a realizao de procto-sigmoidoscopia,
que deve iniciar-se pelos 10-12 anos de idade e continuar at aos 35 anos, cada 1-2
anos. Aps os 35 anos, o ritmo do exame endoscpico passa a ser de 3 em 3 anos.
Os testes genticos devem ser realizados, sempre que possvel. Estes marcadores
podem diagnosticar mais de 95% de indivduos em risco, com uma acuidade >98%.
Devem ser efectuados aos 10-12 anos de idade. Se o teste positivo, deve realizar-
se vigilncia sigmoidoscpica, de acordo com a estratgia acima descrita. Se o teste
negativo, deve programar-se este exame cada 3-5 anos, at aos 40 anos de idade.
Quando definido o diagnstico de polipose do clon, o doente deve ser submetido
a rastreio endoscpico peridico (cada 1-3 anos) do tracto digestivo alto.
5. Curso clnico e complicaes
A maioria dos indivduos com PAF permanecem assintomticos at que ocorre a can-
cerizao. O desenvolvimento de plipos adenomatosos lento e insidioso. O nme-
ro e dimenso dos plipos aumentam gradualmente ao longo dos anos. Se a doena
no tratada, surgem eventualmente sintomas inespecficos da polipose ou de um
cancro do clon. Os sintomas mais usuais incluem rectorragias, diarreia e dor abdo-
minal. Cerca de 70% dos doentes com sintomas j tm transformao maligna do
clon.
Os plipos do tracto superior do tubo digestivo so usualmente assintomticos, at
que acontea a malignizao, exceptuando os plipos da papila de Vater, que podem
originar ictercia obstrutiva ou pancreatite.
A expectativa mdia de vida nos doentes com PAF no tratados de cerca de 42 anos.
A colectomia aumenta significativamente a sobrevida.
INTESTINO - Plipos e Sndromes de Polipose do Clon e Recto
431
6. Tratamento
Na PAF, o envolvimento colo-rectal por adenomas evolui para cancro em 100% dos
casos. Uma vez que no existe teraputica mdica, a nica atitude profilctica a res-
seco do clon.
A cirurgia profilctica no est indicada nos indivduos portadores do gene, sem
expresso fenotpica. S est aconselhada se existirem indicadores clnicos: mais de
10-20 plipos, plipos >5 mm e displasia de alto grau. A idade ideal para cirurgia pro-
filctica antes dos 20 anos. Se o diagnstico efectuado no contexto de um qua-
dro sintomtico, a cirurgia deve ser realizada com a celeridade possvel.
No que respeita tcnica cirrgica, existem presentemente duas principais opes:
colectomia total com anastomose ileo-rectal, e coloprotectomia total reconstrutiva
com bolsa ileo-anal.
Constituem indicaes para a primeira opo:
a. Recto com poucos plipos
b. Doente aderente a vigilncia ulterior
c. Doena moderadamente severa (<1000 plipos)
d. PAF atenuada
e. Mutao nos exes 3 ou 4
f. Cancro do clon incurvel
g. Doente assintomtico
Constituem indicaes para a segunda opo:
a. Recto cheio de plipos
b. Um ou mais plipos rectais >2 cm
c. Displasia severa no recto
d. Cancro colo-rectal curvel
e. Doena severa (>1000 plipos)
f. Mutao no exo 15 G
g. Doente sintomtico
B. Caractersticas que distinguem as principais sindromes de polipose
No doente com polipose gastrointestinal todas as sindromes de polipose que cons-
tam do quadro classificativo apresentado, devem ser includos no diagnstico diferen-
cial. O exame histolgico indispensvel para a formulao do diagnstico. Outros
parmetros que devem ser considerados na diferenciao das vrias condies de
polipose incluem a distribuio dos plipos no tracto gastrointestinal, o nmero de
Doenas do Aparelho Digestivo
432
plipos presentes, a existncia de neoplasias ou leses extra-intestinais, a presena
de malignizao e a histria familiar.
Nos dois quadros seguintes, apresentam-se as principais caractersticas que distin-
guem as sindromes de polipose major:
INTESTINO - Plipos e Sndromes de Polipose do Clon e Recto
433
SNDROMES DE POLIPOSE MAJOR
CARACTERSTICAS DOS PLIPOS
Sndrome Hereditariedade Histologia Distribuio Idade de
%
PAF Autossmica Adenoma Clon (100) 16 anos
dominante Estmago (30-100) (8-34 anos)
Duodeno (46-93)
Jejuno (40)
Ileo (20)
Sindrome de Autossmica Adenoma Clon (100) 16 anos
Gardner dominante Estmago (30-100) (8-34 anos)
Duodeno (46-93)
Jejuno (40)
Ileo (20)
Sindrome de Autossmica Peutz-Jegehers Intestino delgado(64-96) 1 dcada
Peutz-Jegehers dominante Estmago (24-49)
Clon (60)
Sindrome de Autossmica Juvenil Clon (usual) 1 dcada
polipose juvenil Estmago (pode ocorrer)
Intestino delgado
(pode ocorrer)
SNDROMES DE POLIPOSE MAJOR
CARACTERSTICAS GERAIS
Incio dos Risco de
Sndrome sintomas cancro Outros cancros Doenas associadas
(idade mdia) do clon
PAF 33 anos 100% = SG Tumores desmides
HCEPR *
Sindrome de 33 anos 100% Periampular e Desmide
Gardner (SG) duodenal (10%) HCEPR
Tiride (raro) Osteoma
Adrenal (raro) Tumores benignos
Hepatoblastoma tecidos moles
(raro) Anomalias dentrias
SNC (raro)
Sindrome de 23-26 anos Levemente Estmago e Pigmentao
Peutz-Jegehers aumentado duodeno (2-13%) oro-cutnea (melanina)
Mama, cervical,
ovrio, testculo,
pncreas
Sindrome de 10 anos Pelo menos Gstrico ? Anomalias congnitas
polipose juvenil (5 anos na 9% Duodenal ? em 20% no tipo no
forma no Pancretico ? familiar
familiar)
* HCEPR: hipertrofia congnita do epitlio pigmentado da retina
Doenas do Aparelho Digestivo
434
REFERNCIAS
Schroy III PC. Polyps, Adenocarcinomas and Other Intestinal Tumours. In: Wolfe MM (Ed.) Therapy of Digestive Disorders. W.B.
Saunders Co. 2000:645-673.
OBrien M. Colorectal Polyps. In: Cohen AM, Winawer SJ (Eds.). Cancer of the Colon, Rectum and Anus. Mcgraw-Hill 1995:127-136.
Herrera L, Obrador A. Hereditary Polyposis Syndromes. In: Cohen AM, Winawer SJ (Eds.). Cancer of the Colon, Rectum and Anus.
Mcgraw-Hill 1995:83-104.
Itzkowitz SH, Kim YS. Colonic Polyps and Polyposis Syndromes. In: Feldman M, ScharSchmidt BF, Sleisenger MH. (Eds).
In: Sleisenger & Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease. W.B. Saunders Co. 1998:1865-1905.
Silvestre F, Soares J. Plipos do clon e do recto. Sequncia adenoma/carcinoma e carcinoma de novo. In: Pinho CA,
Soares J (Eds.). Condies e leses pr-malignas do tubo digestivo. Permanyer Portugal 1998:83-92.
Mides Correia J, Dias Pereira A. Adenomas do clon e recto. In: Costa Mira (Ed.). Carcinoma do clon e recto.
Permanyer Portugal 1994:53-61.
Lomba Viana (Ed.). Leso polipide gastrointestinal. Porto, 1996.
Tytgat GHJ (Ed.). Precancerous conditions and endoscopic screening. Gastrointest Endosc Clin N Am 1997;7(1).
Rosa A. Plipos colo-rectais. In: Tavarela Velodo F (Ed.). Coloproctologia 2000:157-170.
Nobre Leito C, Chaves P, Oliveira AG et al. Adenomas do clon e recto. Factores preditivos da progresso tumoral.
GE J Port. Gastroent 1995;2(1):9-15.
Suspiro A, Fidalgo P, Almeida R et al. Tumores desmides intra-abdominais associados polipose adenomatosa familiar: frequncia,
opes teraputicas e prognstico. GE J Port. Gastroenterol 1996;3(3):240-248.
Saurin JC. Clinical follow-up and treatment of patients with familial adenomatous polyposis.
Gastroenterol Clin Biol. 2001 Apr;25(4 Suppl):B31-7.
Olschwang S. Digestive polyposes: genetic aspects. Gastroenterol Clin Biol. 2001 Apr;25(4 Suppl):B26-30.
Giardiello FM, Brensinger JD, Petersen GM. AGA technical review on hereditary colorectal cancer and genetic testing.
Gastroenterology. 2001 Jul;121(1):198-213.
Jass JR, Talbot IC. Molecular and cellular biology of pre-malignancy in the gastrointestinal tract.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Apr;15(2):175-89.
Rabelo R, Foulkes W, Gordon PH, Wong N, Yuan ZQ, MacNamara E, Chong G, Pinsky L, Lasko D. Role of molecular diagnostic testing in
familial adenomatous polyposis and hereditary nonpolyposis colorectal cancer families. Dis Colon Rectum. 2001 Mar;44(3):437-46.
Souza RF. A molecular rationale for the how, when and why of colorectal cancer screening. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Apr;15(4):451-62.
Wong N, Lasko D, Rabelo R, Pinsky L, Gordon PH, Foulkes TW. Genetic counseling and interpretation of genetic tests in
familial adenomatous polyposis and hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Dis Colon Rectum. 2001 Feb;44(2):271-9.
Bond JH. Colon polyps and cancer. Endoscopy. 2001 Jan;33(1):46-54.
Miller KM, Waye JD. Approach to colon polyps in the elderly. Am J Gastroenterol. 2000 May;95(5):1147-51.
Kronborg O, Fenger C. Clinical evidence for the adenoma-carcinoma sequence. Eur J Cancer Prev. 1999 Dec;8 Suppl 1:S73-86.
McGarrity TJ, Kulin HE, Zaino RJ. Peutz-Jeghers syndrome. Am J Gastroenterol. 2000 Mar;95(3):596-604.
Kronborg O. Colon polyps and cancer. Endoscopy. 2000 Feb;32(2):124-30.
Hawk E, Lubet R, Limburg P. Chemoprevention in hereditary colorectal cancer syndromes. Cancer. 1999 Dec 1;86(11 Suppl):2551-63.
Petersen GM, Brensinger JD, Johnson KA, Giardiello FM. Genetic testing and counseling for hereditary forms of colorectal cancer.
Cancer. 1999 Dec 1;86(11 Suppl):2540-50.
Bochud M, Burnand B, Froehlich F, Dubois RW, Vader JP, Gonvers JJ. 12. Appropriateness of colonoscopy: surveillance after polypectomy.
Endoscopy. 1999 Oct;31(8):654-63.
Bognel C, Grandjouan S. Adenomas and other dysplastic flat polyps of the colon. Gastroenterol Clin Biol. 1999 Aug-Sep;23(8-9):837-51.
Saurin JC, Chayvialle JA, Ponchon T. Management of duodenal adenomas in familial adenomatous polyposis.
Endoscopy. 1999 Aug;31(6):472-8.
Ballauff A, Koletzko S. Hereditary hemorrhagic telangiectasia with juvenile polyposiscoincidence or linked autosomal dominant inheritance?
Z Gastroenterol. 1999 May;37(5):385-8.
Offerhaus GJ, Entius MM, Giardiello FM. Upper gastrointestinal polyps in familial adenomatous polyposis.
Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr;46(26):667-9.
Macrae F. Wheat bran fiber and development of adenomatous polyps: evidence from randomized, controlled clinical trials.
Am J Med. 1999 Jan 25;106(1A):38S-42S.
Bond JH. Colon polyps and cancer. Endoscopy. 1999 Jan;31(1):60-5.
Anwar S, White J, Hall C, Farrell WE, Deakin M, Elder JB. Sporadic colorectal polyps: management options and guidelines.
Scand J Gastroenterol. 1999 Jan;34(1):4-11.
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
435
SECO III - INTESTINO
CAPTULO XX
CANCRO DO CLON E DO RECTO
1. Epidemiologia
2. Biologia
3. Factores de Risco
4. Patomorfologia
5. Clnica e Diagnstico
6. Tratamento
7. Prognstico
8. Vigilncia Ps-Operatria
9. Preveno do Cancro Colo-Rectal
435
Doenas do Aparelho Digestivo
1. EPIDEMIOLOGIA
A frequncia do cancro colo-rectal varia notavelmente entre as diferentes populaes.
As taxas de incidncia so mais elevadas em pases desenvolvidos, designadamente
na USA, onde actualmente ocupa a quarta posio, logo atrs da prstata, da mama
e do pulmo. Representa, neste pas, 9% de todos os novos casos de cancro no
homem, e 11% na mulher.
O cancro colo-rectal tambm muito prevalente na Europa ocidental, mais do que na
Europa de leste, e bastante mais do que em frica, na sia e na Amrica Latina.
Embora as incidncias de cancro do clon e do recto tenham geralmente um compor-
tamento paralelo, as variaes geogrficas so mais pronunciadas para o primeiro do
que para o segundo.
O risco de cancro colo-recal aumenta rapidamente nas populaes que migram de
reas de baixo risco para zonas de alto risco, testemunhando a influncia de factores
do ambiente.
Estudos sobre as variaes temporais evidenciam que, em ambos os sexos, as taxas
de incidncia subiram nos cancros do clon direito e da sigmide, e diminuram no
recto.
Vrias linhas de evidncia sugerem que as dietas ricas em gordura total predispem
para o cancro colo-rectal, especialmente no clon descendente e na sigmide.
Tem sido postulado que a gordura da dieta aumenta a sntese do colesterol e dos ci-
dos biliares. As bactrias do clon converteriam estes compostos em cidos biliares
secundrios, metabolitos de colesterol e outros produtos potencialmente txicos. Os
cidos biliares secundrios constituem potentes promotores da carcinognese do
clon no animal de experincia, aumentando a actividade proliferativa do epitlio.
Estudos epidemiolgicos e experimentais sugerem que a fibra da dieta protege con-
tra o desenvolvimento de cancro do clon. De facto, a observao epidemiolgica cor-
relacionou o elevado consumo de fibra com menor incidncia deste tumor. Postula-se
que o mecanismo protector da fibra resulta do seu efeito sobre o trnsito intestinal,
que acelera, diminundo o contacto de carcinognios e de promotores da carcinog-
nese com a mucosa clica. Alm deste, outros mecanismos de proteco so atribu-
dos fibra da dieta.
Em populaes de alto risco, tem sido detectada actividade mutagnica nas fezes,
relacionada com a produo de fecapentenos pelas bactrias do clon.
Por outro lado, aminas heterocclicas de carnes e peixes grelhados com potencialida-
des mutagnicas, tm sido identificadas nas fezes de populaes de risco.
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
437
H a sugesto de que alimentos ricos em carotenos (vit. A) e em vit. C actuariam como
antioxidantes na quimiopreveno do cancro do clon. Outros agentes com potenciais
efeitos protectores seriam os vegetais, os frutos e certos micronutrientes, designada-
mente o clcio, o selnio, a vit. E e o cido flico.
No quadro seguinte indicam-se os factores ambientais que potencialmente influenciam
a carcinognese colo-rectal:
Doenas do Aparelho Digestivo
438
Relao provvel
Consumo elevado de gordura e baixo em fibra
Relao possvel
Fecapentenos (bactrias do clon)
Aminas heterocclicas (carne e peixe grelhados)
Consumo de cerveja
Dieta pobre em selnio
Proteco provvel
Consumo elevado de fibra
Proteco possvel
Vegetais / frutos
Clcio
Vitaminas A, C e E
Aspirina e AINEs
GRAU DE EVIDNCIA DE FACTORES AMBIENTAIS NA CARCINOGNESE DO CANCRO COLO-RECTAL
2. BIOLOGIA
O desenvolvimento da gentica molecular tem contribudo de forma notvel para o
esclarecimento da cancerognese colo-rectal. Pode seguramente afirmar-se, que o can-
cro colo-rectal resulta da aco conjunta de factores epidemiolgicos e genticos, que
intervm de forma mais ou menos preponderante na ecloso de eventos biolgicos
que conduzem ao tumor maligno.
actualmente aceite que a predisposio gentica joga um papel importante numa
proporo substancial de cancros colo-rectais. clssico dividir os carcinomas do
intestino grosso em hereditrios (ou familiares) e no hereditrios (ou espordicos).
No entanto, mais apropriado assumir que todos os cancros tm uma componente
gentica, que pode ser herdada ou adquirida. Os doentes com cancro familiar, nasce-
ram com o genoma alterado, e os factores ambientais podem contribuir com eventos
genotxicos adicionais para a expresso fenotpica final de malignizao. Nos caso
dos cancros espordicos, mltiplas mutaes genticas somticas, atribudas a facto-
res ambientais, contribuem para o desenvolvimento do tumor.
No quadro seguinte apontam-se as alteraes genticas que tm sido detectadas no
cancro colo-rectal espordico:
Os avanos na biologia molecular e gentica, e os estudos clnicos e histopatolgi-
cos, suportam a concepo de que a grande maioria dos cancros colo-rectais provm
da malignizao de plipos adenomatosos, processo que decorre ao longo de vrios
anos, ou mesmo de dcadas. As alteraes genticas germinais ou somticas detec-
tadas nos vrios estdios da tumorignese colo-rectal, levaram Vogelstein et al apre-
sentao de um modelo gentico de desenvolvimento do cancro, de que formulamos
uma adaptao no grfico seguinte:
MSH2 e MLH1
(inactivao dos genes)
5 q
Mutao/perda
APC MCC?
12 q
Mutao
K-ras
18 q
Perda
DCC
17 q
Mutao/perda
p 53
Cromossoma:
Alterao:
Gene:
Hipometilao
do DNA
Outras alteraes genticas
(por ex. TGF- tipo II rec)
MODELO GENTICO DO CANCRO COLO-RECTAL
Epitlio
normal
Hiperproliferao
celular
Adenoma
precoce
Adenoma
intermdio
Adenoma
avanado
Cancro Metstases
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
439
GENES ALTERADOS NO CANCRO COLO-RECTAL ESPORDICO
Gene Cromossoma % de tumores Classe Funo
com alteraes
K-ras 12 50 Oncogene Transduo do sinal
APC 5q21 60 Supressor tumoral ? Adeso celular
DCC * 18q 70 Supressor tumoral ? Adeso celular
p 53 17p 75 Supressor tumoral Controlo do
ciclo celular
h MSH2 2 10-15% Gene de reparao Replicao do DNA
do DNA
h MLH1 3 10-15% Gene de reparao Replicao do DNA
do DNA
* DCC: deleted in colon cancer
3. FACTORES DE RISCO
O risco de desenvolvimento do cancro colo-rectal depende de vrios factores j iden-
tificados ou suspeitos. No quadro que segue, apontam-se os principais factores de
risco desta neoplasia:
Doenas do Aparelho Digestivo
440
Dieta rica em gordura e pobre em fibra
Idade > 40 anos
Histria pessoal de:
Adenoma colo-rectal
Carcinoma colo-rectal
Cancro do endomtrio, ovrio ou mama
Histria familiar de:
Sindromes de polipose gastrointestinal
Sindromes de Lynch I e II
Familiar do 1 grau com cancro colo-rectal
Doena inflamatria intestinal
Colite ulcerosa
Doena de Crohn
FACTORES DE RISCO DO CANCRO COLO-RECTAL
COMENTRIOS
Relativamente aos factores dietticos e ambientais j tecemos consideraes.
No tocante idade, o risco de cancro aumenta significativamente a partir dos 40 anos.
No entanto, sobretudo num contexto de doena familiar, o cancro pode surgir mais
precocemente.
No que respeita histria pessoal de adenoma colo-rectal, convidamos leitura do
tema Plipos e Sindromes de polipose do clon e recto.
O doente com um cancro colo-rectal pode apresentar em 0.7-7.6% um cancro intesti-
nal sincrnico, em 1.1-4.7% um cancro metacrnico. 50% destes carcinomas metacr-
nicos ocorrem dentro de 5-7 anos aps a leso index.
O risco de cancro colo-rectal num familiar em 1 grau de um doente portador desta
enfermidade, 2-3 vezes superior ao padro normal.
As sindromes de polipose familiar foram abordadas em captulo especial.
Tambm foi referido num captulo deste livro sobre Doena inflamatria intestinal,
que os doentes com colite ulcerosa ou doena de Crohn apresentam um risco acres-
cido de desenvolvimento de cancro do clon, mais notrio na colite ulcerosa extensa
e de longa durao.
Nesta listagem de factores de risco, resta falar da sindrome de Lynch ou cancro colo-
rectal hereditrio sem polipose (HNPCC).
SINDROME DE LYNCH (HNPCC)
Conceito
Enquanto que a polipose adenomatosa familiar apresenta um fentipo tpico (>100
adenomas), possibilitando um diagnstico clnico antes do aparecimento do cancro
colo-rectal, na sindrome de Lynch no existe expresso fenotpica da doena. Por esse
motivo, o diagnstico desta sindrome tem sido elaborado com base em critrios ml-
tiplos.
A sindrome de Lynch inclui dois tipos I e II, sumariados no quadro abaixo indicado:
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
441
Doena autossmica dominante
Incio precoce do cancro do clon (idade mdia 40 anos); o risco inicia-se na dcada dos
20 anos
Ausncia de antecedentes de polipose mltipla
Cancros primrios mltiplos
Cancros primrios sincrnicos em 18%
Tumores metacrnicos adicionais 4-5% por ano
60-80% dos tumores proximais flexura esplnica
Adenocarcinomas mucinosos (35-40%)
Todas as caractersticas do tipo I
Ocorrncia precoce de outros adenocarcinomas:
Endomtrio
Ovrio
Urotlio
Estmago
Intestino delgado
Outras localizaes
SINDROMES DE LYNCH
Tipo 1
Tipo 2
Em 1991, foram definidos os chamados critrios de Amsterdo para a identificao da
sindrome de Lynch ou HNPCC:
1. Trs ou mais familiares com diagnstico de cancro colo-rectal (CCR);
2. CCR envolvendo pelo menos duas geraes, em que um familiar em 1 grau
do outro;
3. Um ou mais CCR diagnosticados antes dos 50 anos de idade.
Os critrios de Amsterdo foram submetidos, entretanto, a validao internacional,
concluindo-se que enfermavam de alguns defeitos, nomeadamente porque podiam
pecar por excesso ou omisso. Por isso, foram enriquecidos com os critrios de
Bethesda, que incorporam nas suas premissas os avanos entretanto ocorridos na
gentica molecular, ao serem descobertos genes de reparao do DNA e do fenme-
no da instabilidade de microsatlites (MI ou RER) no tecido tumoral dos portadores
de HNPCC. So os seguintes os critrios de Bethesda:
1. Critrios de Amsterdo;
2. Doentes com tumores RER positivos e uma das seguintes caractersticas:
Indivduos com carcinoma sncrono ou metacrnico colo-rectal, ou tumores da
famlia HNPCC (estmago, endomtrio, hepatobiliar, intestino delgado, urot-
lio);
Indivduos com CCR e um familiar do 1 grau com CCR ou tumores da famlia
HNPCC, sendo um destes carcinomas detectado antes dos 45 anos;
Indivduos com CCR ou carcinoma do endomtrio, detectados antes dos 45
anos;
Indivduos com CCR do clon direito e padro cribiforme;
Indivduos com CCR de padro mucinoso (>50% do tumor);
Indivduos com adenomas diagnosticados antes dos 40 anos de idade.
Epidemiologia
Computa-se que a frequncia mdia do HNPCC de 4%, embora deva ser superior
luz dos recentes critrios de Bethesda. Calcula-se que a prevalncia na populao
geral esteja compreendida entre 1:200 e 1:1.000, pelo que se trata de uma das doen-
as hereditrias mais frequentes.
Diagnstico
O diagnstico clnico do HNPCC exige a elaborao de uma histria familiar exausti-
va, que deve incorporar informao de todos os familiares em 1 grau, e tambm do
2 grau: avs, tios e tias.
til registar essas informaes, que devem ser autenticadas ou rigorosas, num gr-
fico adequado (heredograma).
Doenas do Aparelho Digestivo
442
com estes dados que se parte para um diagnstico de presuno de HNPCC, e que
se seleccionam os casos que beneficiaro de estudos de biomarcadores genticos,
os quais podero contribuir para o diagnstico diferencial com outras sindromes asso-
ciadas a cancro familiar.
Nos ltimos anos foram realizados progressos notveis no esclarecimento dos even-
tos moleculares envolvidos na patognese do HNPCC, em consequncia de trs linhas
de pesquisa: (a) estudos de ligao gentica; (b) estudos de perda de heterozigotia;
(c) estudo dos mecanismos de reparao do DNA em organismos unicelulares.
No mbito do HNPCC, esse tipo de investigao facultou informaes preciosas, que
se podem consubstanciar nos seguintes achados:
1. Existe uma forte ligao gentica do HNPCC ao cromossoma 2 (regio 2p16) nal-
gumas famlias, noutras ao cromossoma 3 (regio 3p21) e, ainda noutras, a
nenhum destes cromossomas.
2. Nos tumores HNPCC verificou-se que, em vez de ocorrer o desaparecimento de
alelos nas regies cromossmicas acima referidas, observou-se, pelo contrrio,
o aparecimento de alelos novos, no presentes nos tecidos normais desses
doentes. Esses novos alelos, traduzindo a existncia nas clulas tumorais de
sequncias de microsatlites com comprimento diferente do verificado nas clu-
las normais, sugeriram desde logo a existncia de uma instabilidade generaliza-
da nos processos de replicao e/ou reparao de sequncias repetitivas sim-
ples ao nvel do DNA. A prevalncia deste fenmeno de instabilidade de micro-
satlites (IM) ou RER (erros de reparao do DNA), muito elevada no HNPCC
(>90%), surgindo em menos de 3% nos adenomas espordicos, e em cerca de
15% no CCR espordico.
3. Com base em estudos efectuados em bactrias e em leveduras, concluiu-se que
o HNPCC poderia ser determinado por mutaes hereditrias de genes humanos
de reparao de erros de emparelhamento do DNA. Essa hiptese foi exaustiva-
mente estudada, acabando por se identificar o gene hMSH2, localizado no brao
curto do cromossoma 2, como responsvel pela forma do HNPCC ligada a este
cromossoma. Seguiu-se a identificao dos genes humanos LMLH1, hPMS1 e
hPMS2, localizados, respectivamente, em 3p, 2q e 7p. Actualmente aceita-se
que a grande maioria dos casos de HNPCC so devidos a mutaes dos genes
hMSH1, hMLH1 e hPMS2, genes de reparao de erros de emparelhamento do
DNA no CCR. No HNPCC, superior a 70% a percentagem de mutaes germi-
nativas destes genes, isto , mutaes presentes em todas as clulas do indi-
vduo.
4. Como seria de esperar, estes achados foram incorporados na estratgia de diag-
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
443
nstico do HNPCC. No entanto, dado o elevado custo e a morosidade dos estu-
dos com vista pesquisa de mutaes constitucionais dos genes de reparao
de erros de emparelhamento do DNA, esta anlise reservada para casos muito
seleccionados. Pelo contrrio, a pesquisa do fenmeno da instabilidade de
microsatlites (IM) um mtodo de triagem eficaz e mais acessvel. No momen-
to actual, uma proposta racional da abordagem de agregados familiares com
suspeita de HNPCC, a seguinte:
Estratgia de rastreio e vigilncia
A estratgia de rastreio baseia-se na identificao das famlias em risco atravs dos
critrios de Amsterdo, os quais, se completos, definem um risco de 50% (de porta-
dores do gene) para os familiares em 1 grau de doentes afectados.
Em famlias com critrios incompletos, mas que apresentam critrios de Bethesda,
deve fazer-se o teste de rastreio com pesquisa de IM ou RER no tecido tumoral. Se
positivo, o risco dos familiares de 1 grau ser tambm de 50%.
Como j referimos, a identificao da mutao dos genes de reparao do DNA deve
pesquisar-se nos casos Amsterdo positivos e Bethesda IM positivos. A identificao
Famlia com critrios
de Amsterdo
Famlia com critrios
incompletos de Amsterdo
ou de Bethesda
Pesquisa de IM no CCR
do doente mais jovem
Positiva Negativa
Pesquisa de mutaes
germinativas (sangue
perifrico) dos genes
de reparao do DNA no
doente afectado mais jovem
Anlise dos familiares
em risco
Positiva Negativa
Doenas do Aparelho Digestivo
444
dessas mutaes determinar o estudo subsequente dos familiares em risco, detec-
tando os portadores e os no portadores do gene. Nos casos em que no se detec-
ta a mutao no caso index, os familiares em risco devero ser considerados como
tendo um risco de 50% de serem portadores do gene.
Considerando que nos portadores do gene mutado, e nos indivduos com risco de
50% de serem portadores do gene mutado (familiares de 1 grau de doentes com
tumores HNPCC), podem surgir cancros noutros rgos, alm do clon, existem reco-
mendaes do International Collaborative Group on HNPCC (ICG-HNPCC), quanto
vigilncia destes indivduos, indicadas no quadro seguinte:
4. PATOMORFOLOGIA
Os carcinomas do intestino grosso so predominantemente adenocarcinomas, com
estrutura glandular usualmente moderada ou bem diferenciada, e segregando quanti-
dades variveis de mucina. Alguns tumores so mal diferenciados, e outros apresen-
tam clulas em anel. Em cerca de 15% dos casos os tumores so mucinides ou coli-
des, contendo grande quantidade de mucina. So observados mais frequentemente
nas sindromes de Lynch, na colite ulcerosa e em idades jvens.
O sistema de Dukes, proposto por este autor em 1929 para a classificao do tumor
colo-rectal aps exame histopatolgico da pea operatria, tem sido o mais utilizado
dentre os mltiplos sistemas entretanto propostos, designadamente o de Astler-Coller.
Recentemente, foi proposta a classificao TNM como a mais recomendvel para uti-
lizao pelos cirurgies e oncologistas.
Nesta classificao, T refere-se profundidade da penetrao tumoral, N ao grau de
envolvimento ganglionar e M existncia ou no de metstases.
No quadro seguinte indicam-se as relaes entre o estadiamento e a sobrevida aos 5
anos, luz das classificaes de Dukes, Astler-Coller e TNM.
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
445
ESTRATGIA DE VIGILNCIA NO MBITO DO HNPCC
Orgo Atitude Idade de incio Frequncia
Clon Colonoscopia total 20-25 anos 2 anos
Endomtrio Ecografia transvaginal 30-35 anos 1-2 anos
Ovrio Ecografia plvica, Ca125 30-35 anos 1-2 anos
Estmago Endoscopia alta 30-35 anos 1-2 anos
Urotlio Ecografia, exame de urinas, citologia 30-35 anos 1-2 anos
5. CLNICA E DIAGNSTICO
CLNICA
Os principais quadros sintomticos de um carcinoma colo-rectal so:
(a) Obstruo completa ou relativa do lume intestinal, originando: distenso abdo-
minal, dor, nuseas e vmitos. A obstruo ocorre mais frequentemente no trans-
verso, descendente e sigmide, dado o seu menor dimetro luminal. A obstruo
sugere a presena de uma grande massa tumoral, sendo um sintoma ominoso,
usualmente associado a mau prognstico.
(b) medida que o tumor se expande para o lume intestinal, tende a sangrar. A
hemorragia costuma ser de baixo dbito (<6 ml de sangue por dia). Habitualmente
o sangue vem misturado com fezes, podendo no ser visvel. Os tumores do clon
proximal podem originar um quadro de anemia ferripriva. Os tumores da sigmide
e do recto originam com mais frequncia hematoquzia, ou evidenciam-se por san-
gue oculto nas fezes.
(c) Quando o tumor invade a parede intestinal e estruturas adjacentes, podem sur-
gir outros sintomas. Alm da dor e de alteraes dos hbitos intestinais, a inva-
so do recto origina tenesmo; a penetrao da bexiga produz sintomas urinrios
(por ex. pneumatria); a invaso de rgos plvicos origina o aparecimento de sin-
tomas adicionais inespecficos; e a perfurao do clon determina o aparecimento
de um quadro de ventre agudo. Com a disseminao do processo, outros rgos
distncia podem ser atingidos, acrescentando novos sintomas aos j existentes.
(d) Finalmente, alguns tumores provocam um quadro de caquexia, caracterizado
por anorexia intensa, perda de peso e de foras. uma complexa desordem do
metabolismo motivada pelo factor de necrose tumoral.
Na sua fase precoce de desenvolvimento, os cancros colo-rectais so usualmente
Doenas do Aparelho Digestivo
446
ESTADIAMENTO E SOBREVIDA AOS
5
ANOS NO CCR
Estadio Dukes/Astler Cooler TNM Descrio Sobrevida 5 anos
0 - Tis, N0, M0 Carcinoma in situ 100%
I A/A ou B1 T1-2, N0, M0 Tumor limitado 85-100%
muscular propria
II B/B2 ou B3 T3-4, N0, M0 Tumor ultrapassa a 50-80%
muscular propria
III C/C1, C2 ou C3 T1-4, N1-3, M0 Gnglios regionais 30-60%
infiltrados pelo tumor
IV D T1-4, N0-3, M1 Metstases distncia <5%
assintomticos. Os sintomas costumam aparecer em fases j avanadas, tornando o
prognstico sombrio.
No exame fsico, podemos detectar alguns sinais de interesse diagnstico: anemia,
emagrecimento, distenso abdominal, dor palpao, massa palpvel, hepatomeg-
lia, adenopatias, ascite e leso sanguinolenta no toque rectal.
DIAGNSTICO DIFERENCIAL
Vrias enfermidades podem originar sintomas confundveis com os do cancro colo-rec-
tal. Estas situaes clnicas esto indicadas no quadro seguinte:
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
447
DIAGNSTICO DIFERENCIAL DO CANCRO COLO-RECTAL
Massa lesional Dor abdominal
Tumores benignos (mucosa e submucosa) Isqumia
Diverticulose Diverticulite
Massas inflamatrias DII
Diverticulite Clon irritvel
DII Alteraes nos hbitos intestinais
Isqumia DII
Infeces (tuberculose, amibase) Diarreia infecciosa
Estenoses Frmacos (diarreia ou obstipao)
Colite de Crohn Clon irritvel
Isqumia
Colite rdica
Rectorragias
Diverticulose
DII
Colite infecciosa
Colite isqumica
lcera solitria do recto
Doena hemorroidria
DIAGNSTICO
So vrios os meios de diagnstico utilizados na deteco do cancro colo-rectal:
(1) Inspeco anal e toque rectal
Permite a deteco de tumores da zona anal e de leses nos 10 cm distais do
recto.
(2) Anuscopia e proctoscopia rgida
Trata-se de um exame ainda til em determinadas situaes, possibilitando a
visualizao do canal anal e do recto, eventualmente complementado com actos
teraputicos.
(3) Pansigmoidoscopia flexvel
um mtodo de realizao fcil, no requer sedao, a preparao para o exame
simples, visualizando-se, com um fibrosigmoidoscpio de 65 cm, o recto, a sig-
mide e parte do descendente, zonas onde mais elevada a frequncia de tumo-
res.
(4) Colonoscopia
O fibrocolonoscpio ou mais recentemente o videocolonoscpio, so instrumentos
de grande mrito no diagnstico dos tumores do clon, ultrapassando, em fiabili-
dade, o clister opaco. Em pelo menos 90-95% dos casos possvel visualizar todo
o clon, e obter mltiplas bipsias ou realizar polipectomias endoscpicas. Tem
uma incidncia de complicaes muito baixa. Constitui presentemente o mtodo
gold standard no diagnstico dos tumores colo-rectais.
(5) Clister opaco
O clister opaco com duplo contraste continua a ser um exame de elevado mereci-
mento na deteco de tumores do clon. H situaes que limitam a sua acuidade
como sejam a diverticulose e ansas redundantes, e h zonas de mais difcil explora-
o (flexuras, recto). Tal como a colonoscopia, exige um operador perito.
Aps a deteco do tumor colo-rectal e da colheita de bipsias, importante proce-
der ao seu estadiamento para definio da estratgia teraputica. Com essa finalida-
de, o doente deve ser submetido aos seguintes estudos:
(1) Colonoscopia total
Deve ser efectuada em todos os casos em que o diagnstico de tumor foi obtido
por outros mtodos. importante frisar que 2-7% dos doentes tm cancros sin-
crnicos no clon, e que 30-50% evidenciam a presena de adenomas sincrnicos.
(2) Rx do trax
Para deteco de eventuais metstases.
(3) Tomografia computorizada com contraste
sobretudo til para detectar metstases hepticas (sensibilidade de 73% e espe-
cificidade de 99%). Sublinhe-se que 10-25% dos doentes tm metstases hepti-
cas no diagnstico inicial, pelo que a TC facilita a estratgia operatria. Em con-
fronto com a ressonncia magntica, a TC superior na deteco de manifestaes
Doenas do Aparelho Digestivo
448
extra-hepticas.
(4) Ultrassonografia intra-operatria
uma tcnica utilizada em vrios centros, sendo considerada mais valiosa do que
a ecografia convencional ou a TC.
(5) Ultrassonografia endorectal
uma tcnica crescentemente utilizada para definio da invaso da parede do
recto, com vista designadamente teraputica adjuvante com radioterpia.
6. TRATAMENTO
A. CANCRO DO CLON
A1. Cirurgia
A resseco curativa do cancro do colon exige uma ampla exciso do tumor primrio
e a remoo en bloc de gnglios linfticos, linfticos e estruturas contguas. A exten-
so da resseco depende da localizao anatmica e da rede vascular. Uma ressec-
o adequada deve incluir pelo menos uma margem de 5 cm indemne de infiltrao
tumoral. Resseces mais extensas podem ser necessrias em doentes com tumores
sincrnicos ou adenomas no ressecveis por teraputica endoscpica. Tambm so
pertinentes resseces mais amplas em casos de PAF, HNPCC e colite ulcerosa, dado
o maior risco de desenvolvimento de tumores metacrnicos. Doentes com obstruo
completa podem exigir uma colostomia temporria, antes da resseco. A cirurgia
laparoscpica, que tem ganho alguma popularidade nos ltimos anos, no eviden-
ciou, at agora, qualquer benefcio a longo termo no tratamento do cancro do clon.
A2. Teraputica adjuvante
Existe evidncia relativamente ao benefcio da quimioterpia adjuvante no cancro do
clon no estadio III. Essa teraputica adjuvante deve iniciar-se dentro de 8 semanas
aps cirurgia curativa.
O papel da teraputica adjuvante nos cancros do clon no estadio II ainda contro-
verso. Provavelmente estar recomendada nos casos de prognstico mais sombrio:
tumores mal diferenciados, com deleco do anti-oncogene DCC e mutao do p53.
As combinaes actualmente mais utilizadas na quimioterpia do cancro do clon so:
5-FU + levamisole ou 5-FU + leucoverin.
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
449
B. CANCRO DO RECTO
B1. Cirurgia
Tm sido advogadas vrias abordagens no tratamento cirrgico do cancro do recto,
dependentes do tipo de tumor, estadiamento e comorbilidade no paciente. A maioria
dos adenomas rectais e cerca de 5% dos cancros distais podem ser tratados por exci-
so local. Os tumores T1 e T2 com caractersticas patolgicas adversas, e todas as
leses T3, devem ser tratadas agressivamente com exciso total do mesorecto e res-
seco anterior ou resseco abdominoperitoneal. Nos doentes de alto risco operat-
rio, podem ser tratados, em alternativa, com exciso local seguida de quimioradiote-
rpia.
B2. TERAPUTICA ADJUVANTE
Existe evidncia convincente relativamente ao benefcio da quimioradioterpia no tra-
tamento adjuvante do cancro do recto. Estudos relativamente recentes recomendam
essa teraputica de forma sistemtica nos cancros do recto dos estadios II ou III. Os
agentes recomendados em quimioterpia, so os mesmos utilizados no cancro do
clon. A radioterpia ps-operatria, envolve uma dose total de 45-50 Gy. Estudos em
curso pretendem analisar se a radioterpia pr-operatria tem mais benefcios do que
a ps-operatria + quimioterpia. Aguardam-se os resultados desses ensaios.
C. TRATAMENTO DO CANCRO COLO-RECTAL AVANADO
1. Cirurgia
Nos doentes com cancro colo-rectal, a possibilidade de encontrar metstases no diag-
nstico inicial chega a atingir, em vrias sries, os 25%. Alm disso, 30-40% dos
doentes tratados com cirurgia potencialmente curativa, apresentam recidiva local ou
a distncia num perodo mais ou menos longo. Embora a maioria dos doentes com
metstases tenham envolvimento multifocal, alguns apresentam metstases isoladas
ou recidiva local que justificam uma abordagem cirrgica. A resseco heptica das
metstases associa-se a uma sobrevida mdia aos 5 anos entre 25-50%.
A mortalidade operatria baixa em mos experientes. A criocirurgia uma alternati-
va cirurgia convencional, ainda em fase experimental. Metstases isoladas noutros
rgos, designadamente no pulmo, podem tambm beneficiar da interveno cirr-
gica. Finalmente, a cirurgia tem sido empregue como teraputica paliativa em situa-
es de obstruo ou de hemorragia.
Doenas do Aparelho Digestivo
450
2. Quimioterpia
Apesar da sua limitada eficcia, a quimioterpia continua a ser a atitude teraputica
mais utilizada no cancro colo-rectal avanado. O 5-FU o agente activo mais utiliza-
do, com taxas de resposta na casa dos 20%, por via oral ou endovenosa. A resposta
usualmente de curta durao, sendo raro o benefcio a longo prazo. Uma meta-an-
lise recente revelou que a associao 5-FU + leucoverin superior administrao iso-
lada de 5-FU, embora sem efeito significativo no alongamento da sobrevida. A infu-
so selectiva de agentes citostticos na artria heptica tem sido ensaiada, com resul-
tados ainda no evidentes. Alm disso, aguardam-se os resultados de ensaios tera-
puticos utilizando novos agentes citostticos: fluoropirimidinas orais, UFT, capecita-
bina, eniluracil e oxaliplatina.
3. Radioterpia
Tem um importante papel no tratamento de doentes com cancro do recto inopervel
ou recorrente. Por vezes, aps radioterpia local, possvel avanar para teraputica
cirrgica. Alm disso a radioterpia pode controlar satisfatoriamente a dor e a hemor-
ragia em doentes inoperveis.
4. Endoscopia
Vrias tcnicas endoscpicas tm sido utilizadas na teraputica paliativa de carcino-
mas rectais em doentes com comorbilidade significativa. O laser Nd:YAG, o Argon plas-
ma, a electrocoagulao multipolar, a teraputica fotodinmica e a prtese metlica
auto-expansvel so tcnicas endoscpicas paliativas, que visam obter a hemostase
ou a desobstruo do lume intestinal.
Nos trs quadros seguintes, apresentam-se, em esquema, as estratgias de aborda-
gem teraputica do cancro do clon e do recto, e tambm do cancro colo-rectal avan-
ado:
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
451
Doenas do Aparelho Digestivo
452
Polipectomia
Resseco
en bloc
Resseco
en bloc
Cirurgia
paliativa
Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV
Tratar doena
metasttica
Resseco
en bloc
Estadiamento pr-operatrio
Em alternativa: tratamento endoscpico ou radioterpia
Resseco
en bloc
Resseco
en bloc
Cirurgia*
paliativa
Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV
Tratar doena
metasttica
Exciso
local
Histologia
favorvel
Histologia
adversa
Resseco
en bloc
CANCRO DO RECTO
Estadiamento pr-operatrio
Quimioterapia
adjuvante
? Quimioterapia
adjuvante
CANCRO DO CLON
Quimioradioterapia
adjuvante
7. PROGNSTICO
A sobrevida aos 5 anos nos doentes com cancro colo-rectal sem gnglios invadidos e
submetidos a cirurgia de resseco curativa completa, de 80-90%. Nos carcinomas
com afectao dos gnglios, essa taxa baixa para 40-50%. Como j referimos, nos can-
cros colo-rectais no estadio IV, a percentagem de sobrevida inferior a 5%.
Alm da invaso ganglionar, existem outros parmetros morfolgicos e clnicos que
podem afectar o prognstico do cancro colo-rectal (CCR) e que indicamos no quadro
seguinte:
Quimioterapia
sistmica
Resseco
Quimioterapia
sistmica
Resseco
Ablao
-Criocirugia
-lcool
Quimioterapia
-Sistmica
-Infuso arterial
heptica
-Embolizao
Resseco
Radioterapia
Ablao
endoscpica
Quimioterapia
-Sistmica
-Regional
Em alternativa: tratamento endoscpico ou radioterpia
CANCRO COLO-RECTAL AVANADO
OPES TERAPUTICAS
Estadio IV
Resseco paliativa*
do tumor primrio
Metstases
pulmonares
isoladas
Metstases
hepticas
isoladas
Extenso
loco-regional
Doena
disseminada
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
453
8. VIGILNCIA PS-OPERATRIA
Os doentes submetidos a resseco cirrgica curativa esto em risco de doena recor-
rente ou metacrnica e por isso requerem uma vigilncia ps-operatria apertada.
A colonoscopia deve ser realizada dentro de 1 ano aps a interveno (preferentemen-
te entre 3-6 meses), se no foi possvel realiz-la com sucesso (isto , totalmente)
antes da interveno cirrgica, por razes tcnicas ou pela existncia de obstruo. Nos
doentes em que a colonoscopia pr-operatria foi bem sucedida, a vigilncia ao cabo
de 1 ano opcional, mas deve ser considerada nos doentes com margens de ressec-
o <5 cm, dado o maior risco de recorrncia na zona da anastomose.
Doenas do Aparelho Digestivo
454
Patomorfolgico
Estadiamento
Profundidade de penetrao Maior penetrao = pior prognstico
N de gnglios envolvidos 1-4 gnglios melhor > 4 gnglios
Histologia do tumor
Grau de diferenciao Bem diferenciado = melhor prognstico
Mucinoso ou em anel Pior prognstico
Cirroso Pior prognstico
Invaso venosa Pior prognstico
Invaso linftica Pior prognstico
Invaso perineural Pior prognstico
Reaco imunolgica local Melhor prognstico
Dimenso do tumor Sem efeito no prognstico
Morfologia do tumor Polipide/exoftico melhor
Contedo em DNA Aneuploidia = pior prognstico
Clnico
Diagnstico em doente assintomtico Melhora prognstico ?
Durao dos sintomas Sem efeito no prognstico
Rectorragia como apresentao inicial Melhor prognstico
Obstruo intestinal Pior prognstico
Perfurao intestinal Pior prognstico
Localizao do tumor Clon melhor que recto ?
Clon esquerdo melhor que clon direito ?
Idade < 30 anos Pior prognstico
CEA pr-operatrio CEA elevado = pior prognstico
Deleco no cromossoma 18q Pior prognstico
(gene DCC) ou 17p (p53)
Metstases a distncia Muito pior prognstico
PARMETROS MORFOLGICOS E CLNICOS QUE PODEM AFECTAR O PROGNSTICO EM DOEN-
TES COM CCR
Parmetro Efeito no prognstico
A utilidade de outras estratgias de vigilncia permanece controversa. A avaliao seria-
da do CEA, cada 2-4 meses, pode ser til na monitorizao de doentes com valores
pr-operatrios elevados, mas s se o doente e o cirurgio concordarem na realiza-
o de uma second-look cirurgia, se ocorrer uma elevao substancial do CEA. Esta
segunda interveno pode ter utilidade em doentes com metstases hepticas resse-
cveis.
Os estudos imagiolgicos seriados com TAC ou RM tambm no tm evidenciado
benefcio no mbito de uma estratgia de vigilncia de rotina. Sero teis na avalia-
o de doentes sintomticos ou em doentes com sinais fsicos ou testes laboratoriais
anormais. Podem tambm ser teis em doentes com risco elevado de recidiva local
ou sistmica, dado que a deteco precoce antes do incio de sintomas favorece o
prognstico.
9. PREVENO DO CANCRO COLO-RECTAL
A. PREVENO PRIMRIA
Modificaes no estilo de vida, particularmente no que respeita dieta, tm sido
desde h vrios anos recomendadas como estratgia importante, ainda que no com-
provada, na reduo do risco do cancro colo-rectal.
Em consonncia com dados de pesquisa epidemiolgica, a dieta pobre em calorias
totais, pobre em gorduras e rica em fibra, seria benfica. As gorduras no deveriam
ultrapassar 30% das calorias dirias, e a fibra deveria ser consumida em doses de 25-
30 gr/dia. Cerca de metade da fibra recomendada seria na forma de frutos frescos e
vegetais, e a restante integraria produtos cereais. Os dados epidemiolgicos tambm
sugerem a manuteno de um peso corporal ideal, a cessao do tabaco, o consumo
moderado de lcool e o exerccio fsico regular como factores que atenuariam o risco
de cancro.
Alm das alteraes no estilo de vida, o progresso na compreenso da epidemiologia
e biologia do cancro colo-rectal, facilitou a identificao de vrios nutrientes da dieta
e compostos farmacolgicos capazes de inibirem ou reverterem a carcinognese
colo-rectal. Os agentes de quimiopreveno que tm evidenciado efeitos promissores
em estudos pr-clnicos, podem ser classificados em trs principais categorias: (a)
agentes bloqueantes que previnem a interaco de carcinognios com alvos celula-
res crticos (por ex. AINEs); (b) agentes supressores que selectivamente inibem a
proliferao celular (por ex: clcio, AINEs, difluorometilornitina), alteram a expresso
de genes (por ex. cido flico) ou induzem diferenciao celular (por ex retinides); e
antioxidantes que limpam o oxignio e radicais livres orgnicos e limitam a peroxida-
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
455
o lipdica (por ex. b-caroteno e Vit. E). Tem sido estudada a eficcia de muitos des-
tes agentes, assim como a de um novo composto, recentemente introduzido no mer-
cado, que inibe selectivamente a ciclooxigenase 2 (COX-2). Ainda no existe, no
momento actual, evidncia suficiente para a utilizao destes mltiplos agentes na
preveno primria do cancro colo-rectal. As nicas excepes sero o sulindac (200-
400 mgr/dia no tratamento de doentes seleccionados com PAF aps colectomia com
conservao do recto, e o suplemento de folato (0.4 a 1 mgr/dia) em doentes com
colite ulcerosa de longa evoluo.
B. PREVENO SECUNDRIA
Embora tenha ocorrido melhoria nas taxas de sobrevida aos 5 anos no mbito do can-
cro colo-rectal, a mortalidade por esta doena continua a ser elevada, porque uma
fraco muito grande destes doentes apresentam leses avanadas e incurveis no
momento do diagnstico. Dado que o prognstico do cancro colo-rectal est intima-
mente relacionado com o estadio da doena no momento do diagnstico inicial, a
melhoria das taxas de sobrevida passa pelo diagnstico precoce da leso tumoral ou
do seu precursor, o adenoma. Por isso tem sido advogada a preveno secundria,
traduzida em programas de rastreio e de vigilncia, tendo em vista a deteco do can-
cro numa fase pr-sintomtica e a remoo de leses pr-malignas (adenomas).
A implementao de programas de rastreio e de vigilncia tm sustentao consisten-
te, designadamente em Portugal, pelas razes seguintes: (1) O cancro colo-rectal
uma doena frequente, com srias consequncias; (2) Vrios testes de rastreio evi-
denciaram exequibilidade na rotina clnica, aceitao pelo doente e acuidade suficien-
te na deteco do cancro precoce; (3) Existe evidncia suficiente no sentido de indi-
car que o rastreio pode reduzir a incidncia do cancro colo-rectal, mediante a identi-
ficao e remoo de adenomas pr-malignos, e reduzir tambm a mortalidade ao
detectar tumores em fase inicial; (4) Estudos de anlises de deciso demonstraram
claramente racios de custo-benefcio favorveis, qualquer que seja a modalidade de
rastreio utilizada; (5) A estimativa do desenvolvimento biolgico do plipo adenoma-
toso sugere que a fase pr-clnica da doena potencialmente detectvel suficiente-
mente longa para justificar o rastreio.
Entende-se por rastreio o processo de identificao de indivduos assintomticos onde
a probabilidade de deteco de adenomas ou cancros colo-rectais maior do que em
indivduos assintomticos da populao geral.
A vigilncia, por outro lado, supe a monitorizao peridica de doentes com risco
acrescido de cancro colo-rectal devido a doena colo-rectal prvia, por exemplo, doen-
tes com histria de cancro colo-rectal, adenomas ou doena inflamatria intestinal.
Doentes em que a idade (>50 anos) o nico factor de risco, consideram-se de risco
intermdio, enquanto que indivduos com outros factores de risco, identificados num
captulo anterior, so rotulados de alto risco.
Doenas do Aparelho Digestivo
456
1. RASTREIO EM INDIVDUOS ASSINTOMTICOS DE RISCO INTERMDIO
A pesquisa de sangue oculto nas fezes, a fibrosigmoidoscopia, a colonoscopia e o clis-
ter opaco com duplo contraste tm sido advogados como testes apropriados para ras-
treio de indivduos assintomticos com mais de 50 anos de idade.
Tendo em conta as vantagens e limitaes de cada um destes testes, vrias tm sido
as propostas de recomendao avanadas por credenciadas Instituies internacio-
nais. O painel norte-americano GI Consortium que integra vrias sociedades cient-
ficas de gastrenterologistas e cirurgies, concluiu que existem vrias opes de ras-
treio, indicadas no quadro seguinte:
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
457
Pesquisa anual de sangue oculto nas fezes
Fibrosigmoidoscopia cada 5 anos
Pesquisa anual de sangue oculto nas fezes + fibrosigmoidoscopia cada 5 anos
Clister opaco com duplo contraste cada 5-10 anos + fibrosigmoidoscopia cada 5 anos
Colonoscopia cada 10 anos
RASTREIO DO CANCRO COLO-RECTAL OPES PARA INDIVDUOS ASSINTOMTICOS COM
MAIS DE 50 ANOS E DE RISCO INTERMDIO
COMENTRIOS
Todas as opes propugnadas pelo GI Consortium foram consideradas favorveis, em
termos de custo-benefcio.
A associao de pesquisa anual de sangue oculto + fibrosigmoidoscopia cada 5 anos
oferece melhores resultados do que cada opo individual.
A colonoscopia virtual, uma nova tcnica que combina a tomografia computorizada
helicoidal com imagens tridimensionais, no foi recomendada em face dos dados insu-
ficientes no tocante performance, eficcia, complicaes e aceitao pelo doente.
2. RASTREIO E VIGILNCIA EM INDIVDUOS DE ALTO RISCO
Atinge quase 25% a percentagem de casos de cancro colo-rectal que ocorrem em indi-
vduos com factores predisponentes, alm da idade.
Esses factores de risco foram descritos num captulo deste tema sobre cancro colo-
rectal, e tambm parcialmente abordados na exposio sobre Plipos e polipose do
clon e recto.
As estratgias de rastreio e de vigilncia envolvendo essas situaes de risco foram
j abordadas, exceptuando o caso da doena inflamatria intestinal.
A estratgia de vigilncia da doena inflamatria intestinal, com vista deteco de
leses neoplsicas, tem suscitado controvrsia. H quem defenda protocolos rgidos
de vigilncia em determinadas situaes clnicas, h quem entenda que essa vigiln-
cia aleatria, e h quem defenda uma utilizao mais frequente da colectomia pro-
filctica.
indiscutvel que a vigilncia mediante a utilizao de colonoscopias com bipsia tem
limitaes: (1) S uma minscula fraco da mucosa colhida para deteco da dis-
plasia; (2) No existe uma abordagem standard quanto ao nmero de bipsias,
dimenso da pina de bipsia e nmero de locais a biopsar; (3) Falta de informao
quanto ao significado da displasia; (4) Impraticabilidade logstica de biopsar todos os
aparentes pseudo-plipos; (5) Os valores preditivos positivos e negativos de displa-
sia so imperfeitos; (6) A variabilidade inter-observador entre peritos em anatomia
patolgica pode atingir os 50%.
Como marcadores de risco, alm da displasia, tm sido recentemente estudados: a
aneuploidia, o antignio Sialil-Tn, a instabilidade de microsatlites, a mutao p53, a
Beta-catenina e o Ki-67 (marcador de proliferao celular). No existem ainda dados
consistentes sobre o valor destes marcadores.
Apesar das limitaes acima apresentadas, a colonoscopia com bipsias continua a
ser defendida em muitos sectores. Um algoritmo de vigilncia bastante recomendada,
o sugerido por D.J.Ahnen:
Doenas do Aparelho Digestivo
458
INTESTINO - Cancro do Clon e do Recto
459
?
Repetir colonoscopia +
bipsias em 1-2 meses
para confirmao
Negativo
Displasia de
baixo grau
ou persistente
Displasia de
alto grau
ou cancro
CIRURGIA
Repetir colonoscopia +
bipsias em 3-6 meses
Repetir colonoscopia
dentro de 1 ano
Repetir
colonoscopia
dentro de 1 ano
Repetir
colonoscopia
em 2 anos
Mucosa
plana
Leso ou
massa
Mucosa
plana
Displasia de
alto grau
Colonoscopia + bipsias
Colite extensa 7 - 10 anos
Colite esquerda 15 anos
Cancro
Indefinido Negativo
Displasia de
baixo grau
ALGORITMO DE VIGILNCIA COLONOSCPICA NA COLITE ULCEROSA
Doenas do Aparelho Digestivo
460
REFERNCIAS
Cohen AM, Winawer SJ, Friedman MA, Gunderson LL (Eds.). Cancer of the colon, rectum and anus. McGraw-Hill 1995.
Rustgi AK (Ed.). Gastrointestinal cancers.. Section V. Colorectal cancer. Lippincott-Raven 1995:353-478.
Bresalier RS, Kim YS. Malignant neoplasms of the large intestine. In: Feldman M, ScharSchmidt BF, Sleisenger MH (Eds.).
Sleisenger & Foldtrans Gastrointestinal and Liver Disease. W.B. Saunders Co. 1998:1906-1942.
Luk GD (Ed.). Colorectal cancer. Gastrointestinal Clin Nort Am. 1988;17(4).
Bevers T, Levin B. Colorectal cancer population screening and surveillance. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B.
Evidence based Gastroenterology and Hepatology. BMJ Bookes 1999:230-240.
Lashner BA, Watson AJM. Colorectal cancer in ulcerative colitis: surveillance. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B.
Evidence based Gastroenterology and Hepatology. BMJ Bookes 1999:221-229.
Young GP, Rozen P, Levin B (Eds.). Prevention and early detection of colorectal cancer. W.B. Saunders Co. 1996.
Costa Mira F (Ed.). Carcinoma do clon e recto. Permanyer Portugal, 1994.
Pinho C, Soares J (Eds.). Condies e leses pr-malignas do tubo digestivo. Permanyer Portugal, 1998.
Wilmink ABM. Overview of the epidemiology of colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1997;40:483-493.
Dove-Edwin I, Thomas HJW. Review anticle: the prevention of colorectal cancer. Aliment Pharmacol Ther 2001;15:323-336.
AGA technical review on hereditary colorectal cancer and genetic testing. Gastroenterology 2001;121:198-213.
Winawer SJ, Fletcher RH, Miller L et al. Colorectal cancer screening: clinical guidelines and rationale. Gastroenterology 1997;112:594-642.
Boland CR, Sinicrope FA, Brenner DE et al. Colorectal cancer prevention and treatment. Gastroenterology 2000;118(2, suppl. 1):S115-S128.
Nobre Leito C. Carcinognese do clon e recto. Contribuio clnica e experimental. Tese de doutoramento. Lisboa 1993.
Fidalgo P. Quando a gentica bate porta do clnico! GE J Port Gastroenterol 2000;7(2)105-109.
Cravo ML, Fidalgo P, Lage P et al. Validation and simplification of Bethesda guidelines for identifying apparently sporadic forms of colorectal
carcinoma with microssatellite instability. Cancer 1999;85:79-85.
Pinto A, Chaves P, Claro I et al. Rastreio do carcinoma do clon e recto. Importncia da sigmoidoscopia flexivel.
GE J Port Gastroenterol 1997;4(2):77-83.
Soares J. Cancro colorectal. Impacto da gentica molecular no seu manejo. GE J Port Gastroenterol 1996;3(4), Supl.:35-38.
Suspiro A, Cravo M, Fidalgo P et al. Diagnstico gentico da sndrome de Lynch: deteco de mutaes nos genes de reparao hMSH2 e
HMLH1. GE J Port Gastrenterol 1998;5(2):83-88.
Goulo MH, Freitas D, Donato A et al. Rastreio do cancro do clon. Coimbra Mdica 1988;9:251-257.
Sengupta S, Tjandra JJ, Gibson PR. Dietary fiber and colorectal neoplasia. Dis Colon Rectum. 2001 Jul;44(7):1016-33.
Lowry AC, Simmang CL, Boulos P, Farmer KC, et al. Consensus statement of definitions for anorectal physiology and rectal cancer: report
of the Tripartite Consensus Conference on Definitions for Anorectal Physiology and Rectal Cancer. Washington, D.C., May 1, 1999. Dis Colon
Rectum. 2001 Jul;44(7):915-9.
Ishibe N, Freedman AN. Understanding the interaction between environmental exposures and molecular events in colorectal carcinogenesis.
Cancer Invest. 2001;19(5):524-39.
Ragnhammar P, Hafstrom L, Nygren P, Glimelius B. A systematic overview of chemotherapy effects in colorectal cancer.
Acta Oncol. 2001;40(2-3):282-308.
Giardiello FM, Brensinger JD, Petersen GM. AGA technical review on hereditary colorectal cancer and genetic testing.
Gastroenterology. 2001 Jul;121(1):198-213.
Gryfe R, Gallinger S. Microsatellite instability, mismatch repair deficiency, and colorectal cancer. Surgery. 2001 Jul;130(1):17-20.
Clapper ML, Chang WC, Meropol NJ. Chemoprevention of colorectal cancer. Curr Opin Oncol. 2001 Jul;13(4):307-13.
Kachnic LA, Willett CG. Radiation therapy in the management of rectal cancer. Curr Opin Oncol. 2001 Jul;13(4):300-6.
Ilson DH. Adjuvant therapy for noncolorectal cancers. Curr Opin Oncol. 2001 Jul;13(4):287-90.
Grothey A, Schmoll HJ. New chemotherapy approaches in colorectal cancer. Curr Opin Oncol. 2001 Jul;13(4):275-86.
Frascio F, Giacosa A. Role of endoscopy in staging colorectal cancer. Semin Surg Oncol. 2001 Mar;20(2):82-5.
de Zwart IM, Griffioen G, Shaw MP, Lamers CB, de Roos A. Barium enema and endoscopy for the detection of colorectal neoplasia:
sensitivity, specificity, complications and its determinants. Clin Radiol. 2001 May;56(5):401-9.
Goldberg SN, Gazelle GS. Radiofrequency tissue ablation: physical principles and techniques for increasing coagulation necrosis.
Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):359-67.
Levi F, Giacchetti S, Zidani R, Brezault-Bonnet C, Tigaud JM, Goldwasser F, Misset JL. Chronotherapy of colorectal cancer metastases.
Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):320-2.
Fiorentini G, Poddie DB, Cantore M, et al. Locoregional therapy for liver metastases from colorectal cancer: the possibilities of intraarterial
chemotherapy, and new hepatic-directed modalities. Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):305-12.
Rembacken B, Fujii T, Kondo H. The recognition and endoscopic treatment of early gastric and colonic cancer.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Apr;15(2):317-36.
Kronborg O. Colonic screening and surveillance. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Apr;15(2):301-16.
Jass JR, Talbot IC. Molecular and cellular biology of pre-malignancy in the gastrointestinal tract.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Apr;15(2):175-89.
Lingenfelser T, Ell C. Lower intestinal bleeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Feb;15(1):135-53.
Rex DK, Bond JH, Feld AD. Medical-legal risks of incident cancers after clearing colonoscopy. Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):952-7.
Stone C, Weber HC. Endoscopic removal of colonic lipomas. Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):1295-7.
Kudo S, Rubio CA, Teixeira CR, Kashida H, Kogure E. Pit pattern in colorectal neoplasia: endoscopic magnifying view.
Endoscopy. 2001 Apr;33(4):367-73.
Norat T, Riboli E. Meat consumption and colorectal cancer: a review of epidemiologic evidence. Nutr Rev. 2001 Feb;59(2):37-47.
Lynch PM. COX-2 inhibition in clinical cancer prevention. Oncology (Huntingt). 2001 Mar;15(3 Suppl 5):21-6.
Diasio RB. Current status of oral chemotherapy for colorectal cancer. Oncology (Huntingt). 2001 Mar;15(3 Suppl 5):16-20.
Haller DG. Update on chemotherapy for advanced colorectal cancer. Oncology (Huntingt). 2001 Mar;15(3 Suppl 5):11-5.
Shim CS. Endoscopic mucosal resection: an overview of the value of different techniques. Endoscopy. 2001 Mar;33(3):271-5.
Rabelo R, Foulkes W, Gordon PH, Wong N, Yuan ZQ, MacNamara E, Chong G, Pinsky L, Lasko D. Role of molecular diagnostic testing in
familial adenomatous polyposis and hereditary nonpolyposis colorectal cancer families. Dis Colon Rectum. 2001 Mar;44(3):437-46.
Souza RF. A molecular rationale for the how, when and why of colorectal cancer screening. Aliment Pharmacol Ther. 2001 Apr;15(4):451-62.
Safa MM, Foon KA. Adjuvant immunotherapy for melanoma and colorectal cancers. Semin Oncol. 2001 Feb;28(1):68-92.
Macdonald JS, Astrow AB. Adjuvant therapy of colon cancer. Semin Oncol. 2001 Feb;28(1):30-40.
Pricolo VE, Potenti FM. Modern management of rectal cancer. Dig Surg. 2001;18(1):1-20.
Murty M, Enker WE, Martz J. Current status of total mesorectal excision and autonomic nerve preservation in rectal cancer.
Semin Surg Oncol. 2000 Dec;19(4):321.
Bus PJ, Verspaget HW, Lamers CB, Griffioen G. Chemoprevention of colorectal cancer by non-steroidal anti-inflammatory drugs.
Scand J Gastroenterol Suppl. 2000;(232):101-4.
Matczak E. Human papillomavirus infection: an emerging problem in anal and other squamous cell cancers.
Gastroenterology. 2001 Mar;120(4):1046-8.
Ponz de Leon M, Percesepe A. Pathogenesis of colorectal cancer. Dig Liver Dis. 2000 Dec;32(9):807-21.
Bond JH. Colon polyps and cancer. Endoscopy. 2001 Jan;33(1):46-54.
SECO IV
FGADO
Doenas do Aparelho Digestivo
FGADO - Insuficincia Heptica Aguda
463
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXI
INSUFICINCIA HEPTICA AGUDA
1. Conceito
2. Etiologia
3. Histopatologia
4. Mecanismo de Agresso
5. Clnica
6. Prognstico
7. Teraputica
463
Doenas do Aparelho Digestivo
1. CONCEITO
A insuficincia heptica aguda (IHA) descreve uma constelao de sintomas clnicos
associados a colapso da funo heptica normal. Dois pontos cruciais na sua defini-
o so o desenvolvimento de um quadro de encefalopatia heptica e o aparecimen-
to de uma coagulopatia com subsequente ictercia. Em muitos casos, surge associa-
damente edema cerebral, insuficincia renal e falncia multiorgnica. Descrita inicial-
mente como atrofia amarela aguda, a IHA continua a desafiar o clnico, na medida em
que, apesar de muitos avanos cientficos e tcnicos, comporta ainda uma significati-
va mortalidade.
A nomenclatura desta sndrome tem sido controversa. Em 1970, props-se a designa-
o de hepatite aguda fulminante para descrever o aparecimento de encefalopatia
dentro de 8 semanas aps o incio da doena, sem evidncia de afeco heptica pr-
via. Em meados da dcada de oitenta, autores franceses dividiram esta entidade em
dois tipos: forma fulminante caracterizada pelo aparecimento de encefalopatia dentro
de duas semanas, e forma subfulminante, com encefalopatia entre duas a doze sema-
nas. Mais recentemente, autores ingleses propuseram uma nova classificao: forma
hiperaguda (encefalopatia dentro de uma semana), forma aguda (encefalopatia den-
tro de uma a quatro semanas) e forma subaguda (encefalopatia dentro de cinco a
vinte e seis semanas).
2. ETIOLOGIA
Diferenas geogrficas induzem variaes na etiologia desta sindrome. Mltiplas so
as causas de IHA:
Hepatite viral.
uma das causas mais frequentes. No entanto, a incidncia de hepatite aguda ful-
minante baixa, considerando o amplo grupo de doentes com hepatite viral
(0.35% para a hepatite A e at 1% para a hepatite B). A hepatite A uma causa
rara, com melhor prognstico. A hepatite B a causa mais comum em todo o
mundo, identificando-se alguns factores virais como especialmente determinantes:
estirpes mutantes, coinfeco ou sobreinfeco por hepatite D, e reactivao da
infeco B, espontnea ou relacionada com quimioterpia. Quanto hepatite C, a
maioria dos estudos indicam que este vrus no induz um curso fulminante. No
entanto, na hepatite fulminante B pode ocorrer coinfeco por vrus C em percen-
tagens que podem atingir os 50%. No tocante ao vrus E, tem escassa relevncia
nos pases ocidentais; na ndia, porm, causa frequente de hepatite fulminante
na mulher grvida.
Em todas as sries de hepatite fulminante, reportam-se taxas de hepatite no A,
FGADO - Insuficincia Heptica Aguda
465
Doenas do Aparelho Digestivo
466
no B, no C, no D, no E, (no A-E), de 10% a 45%. Postula-se que agen-
tes infecciosos ainda no identificados so causa da sndrome (parvovirus B 19 ?
Togavirus ?). Na populao imunodeprimida, podem surgir quadros de hepatite ful-
minante associados a infeco por outros virus: herpes simplex, Coxsackie B,
Epstein Barr e citomeglico.
Ingesto de Acetaminofeno.
causa frequente de hepatite fulminante no mundo ocidental, habitualmente com
propsitos suicidas. No entanto, tm sido registados casos com doses considera-
das no txicas (< 4 gr no adulto e < 80 mgr/kg na criana), nomeadamente em
adultos alcolicos ou em crianas aps perodos variveis de jejum.
Reaces idiosincrticas a drogas.
o caso da administrao de isoniazida, sobretudo em coadministrao com rifam-
picina. O halotano, o ketoconazole, a difenilhidantoina e o valproato de sdio
podem induzir hepatotoxicidade severa.
A apresentao aguda de uma doena heptica crnica, embora no seja de englo-
bar na definio de uma hepatite fulminante, pode confundir-se clinicamente com
esta. o caso de uma reactivao da hepatite B, da doena de Wilson e da hepa-
tite auto-imune.
Causas mais raras:
esteatose heptica aguda da gravidez (mais no 3 trimestre), infiltrao heptica
por linfoma, intoxicao por cogumelos (amanita phalloides), isqumia heptica,
sndrome de Budd Chiari, intoxicao por tetracloreto de carbono ou pelo fsforo.
3. HISTOPATOLOGIA
A maioria das causas de insuficincia heptica aguda origina necrose heptica severa
e generalizada. O fgado na autpsia pesa menos de 1 kg, e o exame microscpico
revela uma necrose macia e por vezes total dos hepatcitos, com escassa regenera-
o parenquimatosa e acentuada proliferao dos ductos biliares. Bipsias hepticas
realizadas no incio do processo, apesar das anomalias na hemostase, evidenciaram
a existncia de severa necrose hepatocitria j nesse estdio inicial, e revelaram
ainda que a extenso da necrose est relacionada com o prognstico. Os hepatcitos
constituem normalmente 85% do volume heptico total; nenhum doente conseguiu
sobreviver, segundo os estudos efectuados, quando essa percentagem se situou abai-
xo de 35%, ao passo que nos doentes que recuperaram a conscincia, o volume dos
hepatcitos atingia 45% ou mais.
Algumas causas raras de insuficincia heptica aguda originam uma intensa esteato-
se heptica, como pode suceder na gravidez, no sndrome de Reye e na intoxicao
por tetraciclinas e pelo lcool. A insuficincia cardaca e o choque provocam conges-
to heptica e necrose.
4. MECANISMO DE AGRESSO
Mltiplos mecanismos so invocados na determinao e desenvolvimento da IHA:
Linfcitos T citotxicos (hepatite por virus).
Libertao de citocinas, sobretudo o TNF-a e o xido ntrico (hepatite por virus).
Citotoxicidade directa (virus do herpes simplex e drogas)
Mecanismo imunoalrgico (drogas).
Isqumia e endotoxinmia.
5. CLINICA
SINAIS FSICOS:
O caso tpico o de um indivduo previamente saudvel que apresenta sintomas no
especficos de mal-estar e naseas, desenvolvendo posteriormente, num perodo
varivel, ictercia e encefalopatia. Nalgumas etiologias de IHA a ictercia no proe-
minente (casos da intoxicao por acetaminofeno e da hepatite do herpes simplex).
Geralmente esto ausentes os sinais fisicos da doena heptica crnica, exceptuando
a hepatomeglia da infiltrao por linfoma e os estigmas de cirrose na doena de
Wilson fulminante. Na maioria dos doentes o fgado no palpvel, nem se detecta
esplenomeglia. Nas formas de evoluo subaguda, a encefalopatia pode no ser
detectada.
ANOMALIAS LABORATORIAIS:
Os testes laboratoriais so essenciais para a formulao do diagnstico e da etiolo-
gia.
Relativamente aos testes laboratoriais hepticos, as alteraes mais sugestivas so:
Tempo de protrombina muito alongado.
Elevao das transaminases (geralmente > 1000 UI/ml); valores extremos (20000 a
30000 UI/ml) sugerem intoxicao pelo acetaminofeno). As transaminases podem
FGADO - Insuficincia Heptica Aguda
467
baixar com a destruio macia do parnquima heptico. A elevao ligeira a
moderada das transaminases, com ictercia marcada, pode indiciar uma doena de
Wilson fulminante.
Hiperbilirrubinmia. No entanto, nalgumas etiologias os valores so inferiores a 10
mgr/dl.
Fosfatase alcalina normal ou levemente aumentada.
Desidrogenase lctica muito aumentada na infiltrao heptica por linfoma.
No mbito da pesquisa dos agentes virais importante sublinhar que:
A destruio heptica macia pode determinar a no deteco do AgHbs, pelo que
a excluso da hepatite B impe a determinao da IgM anti-HBc.
Na suspeita de hepatite C, fundamental pesquisar o ARN do virus C.
FALNCIA MULTIORGNICA:
A IHA determina repercusses graves em mltiplos orgos e sistemas, que podemos
sistematizar do seguinte modo:
Insuficincia heptica
As duas maiores complicaes do rpido incio da insuficincia heptica so a hipo-
glicmia e os distrbios da coagulao.
A hipoglicmia pode ser extrema (<30 mg/dl), originando taquicardia, sudorao e dis-
trbios da conscincia.
A coagulao da insuficincia heptica fulminante complexa. A necrose macia induz
uma falncia completa na sntese da maioria dos factores de coagulao e de fibrin-
lise. Usualmente verifica-se:
Falncia na sntese dos factores II, VII, IX e X, com prolongamento do tempo de
protrombina;
Falncia na sntese do factor V (independente da vit.K e com um tempo de semi-
vida de 12 a 16 horas). A sua actividade tem sido utilizada na definio do prog-
nstico desta sndrome;
Aumento na produo dos factores VIII e de von Willebrand;
Diminuio na sintese dos inibidores da coagulao (por ex. antitrombina III, pro-
tena C e protena S).
Diminuio na sntese do fibrinognio, com aumento da sua destruio perifrica;
Diminuio dos nveis do plasminognio e da a2-antiplasmina, componentes do
sistema fibrinoltico sintetizados no fgado;
Trombocitopenia. A taxa de plaquetas menor nos doentes que no sobrevivem.
A sua adesividade aumenta, ao passo que a agregao plaquetar diminui (aumen-
Doenas do Aparelho Digestivo
468
FGADO - Insuficincia Heptica Aguda
469
to do tempo de sangria).
Sistema hemodinmico
Os doentes com IHA exibem um padro circulatrio hiperdinmico, caracterizado por
diminuio da resistncia vascular perifrica, aumento do dbito cardaco e diminui-
o da presso arterial mdia. Este fenmeno circulatrio, de causa ainda no cabal-
mente elucidada, pode determinar consequncias clnicas muito severas:
Formao de shunts arteriovenosos na microcirculao, com diminuio da oxige-
nao dos tecidos acidose lctica, sinal de mau prognstico.
A vasodilatao arterial anmala est na base da insuficincia renal da falncia
heptica fulminante, uma anomalia funcional causada por excessiva vasoconstrio
arteriolar renal. Mais de 50% dos doentes com IHA desenvolvem um quadro de
insuficincia renal, que pode progredir para necrose tubular aguda.
Infeco
muito frequente a infeco na IHF, podendo atingir os 80%. Mecanismos respons-
veis:
Deficiente actuao dos leuccitos prolimorfonucleares;
Diminuio da funo do sistema reticuloendotelial heptico;
Diminuio da sntese heptica do complemento;
Translocao de bactrias intestinais;
Endotoxinmia e libertao de citocinas pr-inflamatrias (TNF- e IL-6).
O diagnstico clnico de infeco pode ser difcil de estabelecer. Em cerca de 30% dos
doentes no h febre nem leucocitose. A infeco mais comum a pneumonia, seguin-
do-se as infeces do tracto urinrio, a bacterimia e a infeco dos catteres veno-
sos. Os microorganismos predominantes so o Staphylococcus aureus, o Escherichia
coli e estirpes estafiloccicas coagulase-negativas. As infeces fngicas colocam pro-
blemas especiais de diagnstico, podendo ser detectadas em percentagens que atin-
gem os 30%. Deve suspeitar-se da sua presena quando os quadros clnico e labora-
torial se degradam aps um perodo de recuperao. Tendem a surgir na 2 semana
da evoluo da IHA. A leucocitose pode ser severa (> 20.000 gb/mm3), e pode surgir
insuficincia renal. A candida albicans o agente mais frequentemente isolado.
Encefalopatia heptica
A presena de distrbios no estado mental define a sndrome de IHA. A encefalopatia
heptica provavelmente induzida por mltiplos factores:
Hiperamonimia, com penetrao da amnia no crebro, onde induz uma cascata
de eventos neuroqumicos que culminam em falncia na neurotransmisso (gluta-
mato, GABA, serotonina, dopamina).
Benzodiazepinas endgenas, aumentadas na IHA, que ligando-se a receptores do
GABA induzem neuroinibio.
Hiproxmia, hipocalimia e hipoglicmia.
Doenas do Aparelho Digestivo
470
Os primeiros sintomas da encefalopatia podem incluir excitao e mania, por vezes
erroneamente tratados com sedativos no ambulatrio. O doente pode progredir rapi-
damente dos estdios I (confuso) e II (letargia) para os estdios III (estupor) e IV
(coma). Em estudos mais avanados, podem ocorrer convulses mioclnicas e desce-
rebrao.
Edema Cerebral
Esta complicao singular da IHA observa-se em doentes com quadros encefalopti-
cos de grau III ou IV, desconhecendo-se ainda o mecanismo da sua induo. Postula-
se a ocorrncia de um evento traduzido na acumulao de glutamina nos astrcitos,
que actuaria como factor osmtico atraindo gua ao tecido cerebral. A entrada de
gua seria facilitada pela hipermia cerebral.
A maioria dos sinais clnicos de edema cerebral resulta da elevao da presso intra-
craneana, com deslocao das estruturas cerebrais que induziriam anomalias pupila-
res, alteraes nos reflexos e descerebrao.
Outros distrbios
Alteraes respiratrias. comum a ocorrncia de hipoxmia, consequncia, de shunts
arteriovenosos pulmonares, por sua vez resultantes do estado hiperdinmico circula-
trio. Pode ocorrer edema pulmonar, por efraco de capilares e tambm por influn-
cia da hipertenso intracraneana.
Hemorragia gastrointestinal, usualmente resultante de eroses gstricas superficiais.
Em muitos doentes ocorre hipertenso portal, raramente com complicaes.
Pancreatite aguda, de etiologia obscura, ocorrendo em cerca de 5% dos casos.
Quando presente, pode contraindicar a realizao de transplantao heptica.
6. PROGNSTICO
Tradicionalmente associada a elevadas taxas de mortalidade, que atingiam os 90% em
vrios sries, a IHA tem vindo a melhorar no prognstico graas conjugao dos
seguintes factores:
Concentrao dos doentes em unidades especializadas;
Melhoria nos cuidados intensivos;
Mais precoce reconhecimento e abordagem das mltiplas complicaes da IHA.
Apesar disso, ainda considervel a percentagem de doentes que sucumbem, varian-
do a sobrevida espontnea entre 20 a 50%. O melhor prognstico o da IHA moti-
vada pela intoxicao por acetaminofeno e pela hepatite A.
A possibilidade de transplantao heptica nestes doentes determinou a anlise de
mltiplos indicadores tendo em vista a elaborao de critrios de prognstico:
Doentes com intoxicao por Acetaminofeno
pH < 7.30 (seja qual for o grau de encefalopatia)
ou
Tempo de protrombina > 100 seg. e creatinmia > 300 mmo/L em doentes com
grau III ou IV de encefalopatia.
Doentes sem intoxicao por Acetaminofeno
Tempo de protrombina > 100 seg. (seja qual for o grau de encefalopatia) ou trs
dos seguintes factores:
Idade < 10 ou > 40 anos
Etiologia: hepatite no-A, no-B, reaco a drogas.
Intervalo ictercia encefalopatia > 7 dias
Tempo de protrombina > 50 segundos
Bilirrubinmia > 17 mgr/dl.
Estes critrios foram testados em vrios centros, apurando-se que apresentam um
valor de predio positivo muito aceitvel ( 80%) em prognosticar a morte.
OUTROS CRITRIOS DE PROGNSTICO
Em Clichy, Frana, defende-se que a combinao de deficincia em factor V (< 20% em
doentes com menos de 30 anos de idade; < 30%, em doentes com mais de 30 anos),
e qualquer grau de encefalopatia, associa-se a mau prognstico, seja qual for a etio-
logia da IHA.
O papel da bipsia heptica na determinao do nmero de hepatcitos viveis,
controverso.
A mensurao do volume heptico por TAC, a quantidade de plasma fresco utilizado
na correco da coagulopatia e a determinao dos potenciais somatosensoriais, so
putativos indicadores de prognstico que aguardam confirmao.
Indicadores de mau prognstico na IHA
(Kings College Hospital, Londres)
FGADO - Insuficincia Heptica Aguda
471
Doenas do Aparelho Digestivo
472
7. TERAPUTICA
H quatro aspectos essenciais a considerar na abordagem teraputica da IHA:
IDENTIFICAO DA CAUSA
H uma necessidade urgente em reconhecer a etiologia do processo, uma vez que dis-
pomos de medidas especficas para certas situaes. A histria clnica e o exame fsi-
co podem fornecer pistas importantes, uma vez que os testess laboratoriais especfi-
cos s estaro disponveis dentro de 24 a 48 horas. Estes testes incluem anlises bio-
qumicas de rotina, provas funcionais hepticas, serologia dos vrus, marcadores imu-
nolgicos e estudos relacionados com o cobre. O estudo ecogrfico pode facultar
informao preciosa relativamente existncia de doena heptica crnica e de patn-
cia das veias hepticas. Importa sublinhar, por outro lado, que a intoxicao pelo ace-
taminofeno ou por cogumelos pode ser combatida por antdotos administrados em
fase precoce.
TRATAMENTO DAS COMPLICAES
A sobrevivncia dos doentes est relacionada, em muitos casos, com a qualidade de
cuidados prestados na unidade de cuidados intensivos. A vigilncia permanente do
estado clnico, a precauo em evitar infeces nosocomiais e a rpida deteco de
alteraes no estado mental, so pontos criticos neste mbito de tratamento.
a Distrbios metablicos
Teraputica i.v. com glicose, dado que no existe neoglicognese heptica.
Controlo da glicmia de 2 em 2 horas. Se ocorrem alteraes do estado mental,
deve excluir-se a hipoglicmia.
Correco da hipofosfatmia (agravada com a infuso de glicose).
Monitorizao do potssio e do magnsio, mormente em situaes de insuficin-
cia renal.
Correco da hiponatremia, especialmente em doentes propostos para transplan-
tao de emergncia, no sentido de evitar complicaes neurolgicas adicionais.
A acidose metablica pode traduzir distrbios na microcirculao perifrica, sendo
de difcil tratamento.
Em situaes de insuficincia renal, ponderar o recurso dilise.
b Coagulopatia
O tempo de protrombina e o factor V so parmetros de prognstico na admisso
hospitalar. A evoluo destes indicadores pode ser especialmente til na eviden-
ciao de melhoria do quadro laboratorial.
A administrao de plasma fresco (2 a 4 unidades cada 6 horas) pode ser neces-
sria se ocorre hemorragia. controversa a sua utilizao em situaes no hemor-
rgicas, pois no est demonstrado o seu efeito profilctico. problemtica a sua
utilizao em casos de insuficincia renal, podendo contribuir para a reteno de
fluidos. Alguns grupos advogam, nestas circunstncias, a plasmaferese, medida
que possibilita a realizao de testes invasivos, designadamente a colocao de
monitores de presso intra-craneana.
A baixa de plaquetas pode predispor a hemorragias no tracto digestivo.
Recomenda-se a transfuso de plaquetas quando estas atingem valores inferiores
a 30.000.
Na profilaxia da hemorragia digestiva, utiliza-se usualmente um inibidor da bomba
de protes.
c Problemas hemodinmicos e renais
A vasodilatao perifrica que estes doentes apresentam, suscita dificuldades na
teraputica com fluidos. A monitorizao da presso venosa central facilita o tra-
tamento.
Quando esto presentes sinais hiperdinmicos, com elevao do dbito cardaco e
diminuio da resistncia perifrica, devemos eliminar a hiptese de sepsis, que
pode surgir num contexto de circulao hiperdinmica e origina queda tensional.
A utilizao de agentes pressores pode adversamente afectar a oxigenao e a
microcirculao tissular.
desejvel a utilizao de frmacos que potenciam as trocas de oxignio na peri-
feria. A utilizao de N-acetilcisteina teria esse efeito benfico, alm de ser um ant-
doto consagrado na intoxicao pelo acetaminofeno.
Uma elevao da presso arterial com bradicardia, pode indicar a ocorrncia de
hipertenso intracraneana.
A insuficincia renal funcional requere a administrao adequada de fluidos e a
excluso de sepsis, um factor agravante comum. questionvel a eficcia de bai-
xas doses de dopamina (2-4 g/kg/hr).
Quando a insuficincia renal progressiva, ou se existe necrose tubular aguda, h
que recorrer dilise.
A hemodilise pode ser problemtica em doentes com encefalopatia, podendo
agravar os desequilibrios osmticos entre o plasma e o crebro. So preferveis
mtodos mais lentos, como a hemofiltrao venovenosa contnua.
d Infeces
FGADO - Insuficincia Heptica Aguda
473
Doenas do Aparelho Digestivo
474
O predomnio de bactrias gram-positivas, sobretudo o S.aureus, indica que a pele
a porta de entrada dos micro-organismos.
Evitar a contaminao das agulhas de infuso i.v. um desiderato fundamental.
A vigilncia microbiana realizada em muitos centros diriamente, porque os indi-
cadores clnicos de infeco so frequentemente inaparentes.
questionvel a utilizao profilctica de antibiticos. No entanto, se o doente
candidato a transplantao, deve iniciar-se antibioterpia para o S. aureus, E. coli
e agentes fngicos (fluconazole, anfotericina B).
e - Encefalopatia heptica e Edema cerebral
Restrio proteica (40gr/dia).
A infeco, a hemorragia digestiva, a insuficincia renal, a hipoglicmia, a hipox-
mia e as alteraes electrolticas podem contribuir para o desenvolvimento de
encefalopatia heptica, ou agravar o estado mental do doente.
Evitar frmacos com potenciais efeitos neuroactivos.
Nos estados de excitao, utilizar benzodiazepinas i.v. ou propofol.
Administrar lactulose por via nasogstrica.
A abordagem do edema cerebral difcil, porque podem no ser aparentes os
sinais de hipertenso intracraneana.
A TAC pode ser til para excluir outras condies neurolgicas, como a hemorra-
gia intracerebral, mas raramente tem utilidade no diagnstico de edema cerebral.
A monitorizao da presso intracraneana deve reservar-se para doentes aguardan-
do transplantao heptica. Pode tambm ser muito importante durante este acto
operatrio.
Na suspeita de edema cerebral, administrar manitol i.v., na dose de 0.5 gr/kg, em
bolus durante 30 minutos. Em doentes com insuficincia renal, a repetio desse
bolus exige dilise para evitar hiperosmolaridade.
SUPORTE HEPTICO
A corticoterpia ineficaz na IHA.
No foi demonstrada eficcia, em termos de regenerao heptica, utilizando as pros-
taglandinas E e as infuses de insulina/glucagina.
A exsanguinotransfuso e a plasmaferese no forneceram indicaes vantajosas.
Os sistemas bioartificiais fgados artificiais esto ainda em fase de desenvolvi-
mento e ensaio experimental.
FGADO - Insuficincia Heptica Aguda
475
TRANSPLANTAO HEPTICA
O custo e a acessibilidade condicionam a transplantao heptica como medida tera-
putica da IHA.
Os critrios correntemente utilizados na seleco dos doentes com IHA para transplan-
tao no so infalveis, presumindo-se que uma pequena percentagem de doentes
transplantados sobreviveriam sem essa interveno.
A sobrevivncia dos doentes com IHA aps transplantao situa-se entre 60% a 65%
ao fim de 1 ano, percentagem inferior taxa de sucesso da transplantao noutras
doenas hepticas.
Doenas do Aparelho Digestivo
476
REFERNCIAS
Donovan JP, Sorrell MF. : Fulminant hepatic failure. In: Wolfe MM, ed. Therapy of Digestive Disorders. W.B. Saunders Co. 2000: 405-411.
Areias J (Ed) Insuficincia heptica fulminante e subfulminante. Porto: Litomdica, 199.
Boudjema K, Iderne A, Lutun P et al. Hpatite fulminante et subfulminante. Gastroenterol Clin Biol 1997 ; 21 : 412-422.
Bernuau J, Durand F. Linsufisance hpatique fulminante et subfulminante, urgence de prvention. Gastroenterol Clin Biol 1997; 21: 387-390.
Dhawan PS, Desai HG. Editorial: subacute hepatic failure. J Clin Gastroenterol 1998; 26 (2): 98-100.
Fingerote RJ, Bain VG. Fulminant hepatic failure. Am J Gastroenterol 1993; 88: 1000-1010.
Rosser GB, Gores GJ. Liver cell necrosis: cellular mechanisms and clinical implications. Gastroenterology 1995; 108: 252-275.
Sergi C, Jundt K, Seiph S et al. The distribution of HBV, HCV and HGV among livers with fulminant hepatic failure of different aetiology.
J. of Hepatology 1998; 29: 861-71.
Rahman TM, Hodgson HJF. Review article: Liver support system in acute hepatic failure. Aliment Pharmacol Ther 1999; 13: 1255-1272.
Williams R. Treatment of fulminant hepatitis. In: Zuckerman AJ, Thomas HC, eds. Viral hepatitis (2 Ed). Churchill Livingstone. 1998: 477-488.
Lee WM, Williams R (Eds). Acute liver failure. Cambridge University Press, 1997.
Figueiredo P, Romozinho JM, Gregrio C, Camacho E, Ferreira M, Freitas D. Falncia heptica fulminante. Experincia de uma Unidade de
Cuidados Intensivos. GE J Port Gastroenterol 1994; 1 (1): 11-16.
Murphy N, Wendon J. Fulminant hepatic failure: treatment. In: Mc Donald J. Burroughs A, Feagan B (Eds). Evidence based Gastroenterology
and Hepatology. BMJ Books 1999: 468-490.
Gill RQ, Sterling RK. Acute liver failure. J Clin Gastroenterol. 2001 Sep;33(3):191-8.
Sechser A, Osorio J, Freise C, Osorio RW. Artificial liver support devices forfulminant liver failure. Clin Liver Dis. 2001 May;5(2):415-30.
Clemmesen JO, Kondrup J, Nielsen LB, Larsen FS, Ott P. Effects of high-volume plasmapheresis on ammonia, urea, and amino acids in
patients with acute liver failure. Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):1217-23.
Rolando N, Clapperton M, Wade J, Wendon J. Administering granulocyte colony stimulating factor to acute liver failure patients corrects
neutrophil defects. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Dec;12(12):1323-8.
Bal C, Longkumer T, Patel C, Gupta SD, Acharya SK. Renal function and structure in subacute hepatic failure. J Gastroenterol Hepatol.
2000 Nov;15(11):1318-24.
Horslen SP, Hammel JM, Fristoe LW, Kangas JA, Collier DS, Sudan DL, Langnas
AN, Dixon RS, Prentice ED, Shaw BW Jr, Fox IJ. Extracorporeal liver perfusion using human and pig livers for acute liver failure.
Transplantation. 2000 Nov 27;70(10):1472-8.
Williams R, Riordan SM. Acute liver failure: established and putative hepatitis viruses and therapeutic implications. J Gastroenterol Hepatol.
2000 Oct;15 Suppl:G17-25.
Ben-Ari Z, Vaknin H, Tur-Kaspa R. N-acetylcysteine in acute hepatic failure (non-paracetamol-induced). Hepatogastroenterology.
2000 May-Jun;47(33):786-9.
Guha C, Chowdhury NR, Chowdhury JR. Reversibly immortalized human hepatocytes: an eternal fountain of liver support?
Hepatology. 2000 Aug;32(2):440-
Ostapowicz G, Lee WM. Acute hepatic failure: a Western perspective. J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;15(5):480-8.
Acharya SK, Panda SK, Saxena A, Gupta SD. Acute hepatic failure in India: a perspective from the East.
J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;15(5):473-9.
Bowen DG, Shackel NA, McCaughan GW. East meets West: acute liver failure in the global village.
J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;15(5):467-9.
Riordan SM, Williams R. Use and validation of selection criteria for liver transplantation in acute liver failure.
Liver Transpl. 2000 Mar;6(2):170-3.
Shakil AO, Kramer D, Mazariegos GV, Fung JJ, Rakela J. Acute liver failure: clinical features, outcome analysis, and applicability of prognostic
criteria. Liver Transpl. 2000 Mar;6(2):163-9.
Shakil AO, Jones BC, Lee RG, Federle MP, Fung JJ, Rakela J. Prognostic value of abdominal CT scanning and hepatic histopathology in
patients with acute liver failure. Dig Dis Sci. 2000 Feb;45(2):334-9.
Conn HO. Hyperammonemia and intracranial hypertension: lying in wait for patients with hepatic disorders?
Am J Gastroenterol. 2000 Mar;95(3):814-6.
Conn HO. Hyperammonia and cerebral herniation: is an abnormality of ammonia metabolism responsible?
Am J Gastroenterol. 1999 Dec;94(12):3646-9.
Rahman TM, Hodgson HJ. Review article: liver support systems in acute hepatic failure. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Oct;13(10):1255-72.
Dowling DJ, Mutimer DJ. Artificial liver support in acute liver failure. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):991-6.
Fischer L, Sterneck M, Rogiers X. Liver transplantation for acute liver failure. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):985-90.
Bernal W, Wendon J. Acute liver failure; clinical features and management. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):977-84.
Moore K. Renal failure in acute liver failure. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):967-75..
Simpson KJ. Cytokines, for better or worse? Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):957-66. .
Thomson RK, Arthur MJ. Mechanisms of liver cell damage and repair. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):949-55..
Smithson JE, Neuberger JM. Acute liver failure. Overview. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):943-7.
Riordan SM, Williams R. Extracorporeal support and hepatocyte transplantation in acute liver failure and cirrhosis.
J Gastroenterol Hepatol. 1999 Aug;14(8):757-70.
Tandon BN, Bernauau J, OGrady J, Gupta SD, Krisch RE, Liaw YF, Okuda K, Acharya SK. Recommendations of the International Association
for the Study of the Liver Subcommittee on nomenclature of acute and subacute liver failure. J Gastroenterol Hepatol. 1999 May;14(5):403-4.
FGADO - Hepatite Viral Aguda
477
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXII
HEPATITE VIRAL AGUDA
1. Agentes da Hepatite Viral
2. Epidemiologia e Factores de Risco
3. Patofisiologia
4. Quadro Clnico
5. Avaliao Laboratorial
6. Histopatologia
7. Diagnstico
8. Histria Natural
9. Tratamento
10. Preveno
477
Doenas do Aparelho Digestivo
A hepatite viral aguda a causa mais frequente de doena heptica no mundo. Muitos
episdios de hepatite so anictricos, inaparentes ou subclnicos. Globalmente, a
hepatite viral a maior causa de virmia persistente. Com as suas sequelas, a hepa-
tite viral responsvel por 1-2 milhes de mortos anualmente.
1. AGENTES DA HEPATITE VIRAL
Podem ser classificados genricamente em dois gruos: agentes de transmisso ente-
ral ou sangunea.
A AGENTES TRANSMITIDOS POR VIA ENTERAL (FECAL-ORAL)
Compreendem o vrus da hepatite A (VHA), o vrus da hepatite E (VHE) e possivel-
mente um terceiro agente (?VHF). So vrus sem envlucro, sobrevivem quando expos-
tos blis , so eliminados nas fezes, no induzem hepatopatia crnica, e no indu-
zem o estado de portador crnico.
a) Vrus da hepatite A (VHA)
Classificado como um picornavirus com 27-28 nm de dimetro.
O genoma compreende uma molcula de ARN com 7500 nucletidos.
Um sertipo no homem, e trs ou mais genotipos.
Replicao no citoplasma dos hepatcitos infectados. No h evidncia de replica-
o no intestino.
Propagao em primatas no humanos e em linhas celulares humanas.
Pode ser inactivado pela radiao ultravioleta, autoclave, hipoclorito de sdio e
fervura (5 minutos).
b) Vrus da hepatite E (VHE)
um vrus ARN, com 27-34 nm de dimetro.
S um sertipo identificado no homem.
Replicao in vivo limitada aos hepatcitos.
No est associado a viremia prolongada, nem frequente a excreo mantida do
vrus nas fezes.
B AGENTES TRANSMITIDOS POR VIA SANGUNEA
Compreendem o vrus da hepatite B (VHB), o vrus da hepatite D (VHD) o vrus da
hepatite C (VHC) e o vrus da hepatite G (VHG). So vrus com envlucro, destrudo
quando exposto blis ou detergentes, no eliminado nas fezes, associados a doen-
a heptica crnica, com provvel excepo do VHG, e associados a viremia persisten-
FGADO - Hepatite Viral Aguda
479
te.
a) Vrus da hepatite B (VHB)
Vrus hepatotrpico contendo ADN, da familia hepadnavrus.
Partcula vrica, ou virio, esfrica, com 42 nm de dimetro, compreendendo uma
estrutura interna, ou core, e um envolucro esterno lipoproteico.
O core do VHB contm um ADN circular e parcialmente de dupla cadeia, integrando
o antignio do core da hepatite B, AgHBc , que uma protena estrutural, e ainda
o enzima DNA polimerase/transcriptase reverse e o antignio e (AgHBe), uma pro-
tena no estrutural que se relaciona com a replicao viral.
O envlucro externo integra o antignio de superficie da hepaite B (AgHBs), e com-
preende trs componentes moleculares, pre-S1, pre-S2 e pequeno s, a forma predo-
minante.
Existe um sertipo major e muitos subtipos baseados na diversidade proteica do
AgHBs.
Existem mutantes do VHB com significado clnico. O mais importante o mutante
negativo para o AgHBe ou mutante do pre-core, frequente nos pases mediterrni-
cos e em Portugal. Outros mutantes do VHB associam-se a defeitos no AgHBs e
podem ser induzidos pela vacina da hepatite B (raros) ou por tratamento com doses
elevadas de imunoglobulina anti-HBs (em doentes submetidos a transplante).
O fgado o mais importante local de replicao do vrus B.
b) Vrus da hepatite D (VHD)
Vrus ARN hepatotrpico requerendo a presena do vrus B para a sua expresso e
patogenicidade, mas no para a sua replicao.
Partcula esfrica, de 35-37 nm, com um envolucro hipoproteico que corresponde ao
AgHBs, e um antignio nuclear fosfoproteico (o antignio delta). Este antignio liga-
se a um NA circular de cadeia simples, e apresenta duas isoformas: a mais pequena,
com 195 aminocidos, que transporta o ARN e essencial para a replicao do VHD;
e a maior, com 214 aminocidos, que inibe a replicao do VHD-NA.
Este agente tem um serotipo reconhecido, e trs gentipos.
A sua replicao acontece exclusivamente no fgado.
c) Vrus da hepatite C (VHC)
um vrus com envlucro e com um genoma constitudo por um RN de cadeia sim-
ples. Pertence famlia dos Flaviriridae.
O virio ainda no se encontra definitivamente caracterizado. Julga-se que uma par-
tcula esfrica com 55 nm de dimetro.
O genoma do vrus C compreende cerca de 9.400 nucletidos, e codifica uma grande
poliprotena com cerca de 3000 aminocidos:
Um tero desta poliprotena compreende uma srie de proteinas estruturais (core,
envelope 1 e envelope 2);
Os restantes dois teros da poliprotena consistem em protenas no estruturais (NS2,
Doenas do Aparelho Digestivo
480
NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B) envolvidas na replicao do VHC.
S se identificou um serotipo do VHC, mas existem mltiplos gentipos , com disri-
buio varivel nas diferentes zonas do globo. Em Portugal predominam os gentipos
1, 2 e 3.
d) Vrus da hepatite G (VHG)
um vrus ARN com 9392 nucletidos, codificando uma poliprotena de 2873 amino-
cidos.
um novo membro dos Flavaviridae, muito parecido, seno idntico, a um agente
conhecido como vrus GB tipo C (GBV-C), mas distinto do vrus C.
O VHG mais prevalente que o VHC, mas raramente causa hepatite aguda e prov-
velmente no causa de doena heptica crnica.
2 EPIDEMIOLOGIA E FACTORES DE RISCO
A HEPATITE VIRAL A
Perodo de incubao: 15-50 dias (mdia de 30 dias).
Distribuio universal, altamente endmico nos pases em desenvolvimento.
Excreo nas fezes de indivduos infectados durante 1-2 semanas antes do incio da
doena, e pelo menos durante 1 semana aps o incio da doena.
O perodo de viremia curto (no h portadores crnicos).
Excreo fecal prolongada (meses) no recm-nascido infectado.
Transmisso entrica (fecal-oral) predominantemente de pessoa para pessoa, ou atra-
vs de alimentos contaminados e gua.
No existe evidncia de transmisso materno-neonatal.
muito rara a transmisso percutnea.
So factores de risco reconhecidos: o contgio no agregado familiar, a homossexuali-
dade masculina, a viagem a pases de alta endemicidade, o contgio nos infantrios
e a toxicodependncia.
Em Portugal tem ocorrido uma diminuio da prevalncia e da incidncia da infeco
pelo HVA, como decorre do nmero de casos notificados nos ultimos 5 anos.
B HEPATITE VIRAL E
Perodo de incubao: cerca de 40 dias.
Formas epidmicas e endmicas amplamente distribudos.
Durante a fase aguda encontra-se o ARN-VHE no soro e nas fezes.
A forma mais comum de hepatite espordica regista-se do adulto jovem dos pases
FGADO - Hepatite Viral Aguda
481
em desenvolvimento.
Doena epidmica preponderantemente transmitida pela gua.
Pouco frequentes os casos secundrios intrafamiliares.
Documentada a transmisso materno-neonatal.
No usual a virmia ou a eliminao fecal prolongada.
C HEPATITE VIRAL B
Perodo de incubao: 15-180 dias (mdia 60-90 dias).
Aps a infeco aguda, a viremia do VHB prolonga-se por semanas ou meses.
1-5% dos adultos, 90% dos recm-nascidos infectados e 50% das crianas desenvol-
vem infeco crnica e viremia persistente.
A infeco persistente pode originar hepatite crnica, cirrose ou carcinoma hepatoce-
lular.
A percentagem do portador crnico <1% nos Estados Unidos da Amrica e >15% na
sia. A endemicidade em Portugal intermdia, situando-se na faixa entre 1%-5%.
O VHB pode detectar-se no sangue, no smen, nas secrees cervicovaginais, na sali-
va e noutros fluidos orgnicos.
A transmisso processa-se por via parentrica (recipientes de produtos derivados do
sangue, uso de agulhas contaminadas em toxicodependentes, doentes em hemodi-
lise, pessoal (de sade), por via sexual, por penetrao de tecidos ou transferncia
permucosa (acidentes com agulhas, patilha de lminas de barba, tatuagem, acupunc-
tura) e ainda por via materno-neonatal (vertical). No existe evidncia de transmisso
fecal-oral.
D HEPATITE VIRAL D (Delta)
Estima-se que o perodo de incubao de 4-7 semanas.
Doena endmica na bacia mediterrnica, no leste da Europa, em zonas de frica, no
Mdio Oriente e na bacia Amaznica.
Viremia curta (infeco curta) ou prolongada (infeco crnica).
A infeco pelo vrus delta ocorre somente no contexto de uma infeco pelo VHB, na
forma de co-infeco, ou como superinfeco delta em portadores do AgHBs
Nos pases desenvolvidos a hepatite delta est praticamente confinada aos toxicode-
pendentes e aos hemoflicos multitransfundidos.
Vias de transmisso: parentrica, sexual e materno-neonatal.
Doenas do Aparelho Digestivo
482
E HEPATITE VIRAL C
Perodo de incubao: 15 a 160 dias (maior pico pelos 50 dias).
comum a viremia prolongada e a infeco persistente.
A infeco persistente est associada hepatite crnica, cirrose e ao carcinoma
hepatocelular.
Calcula-se que cerca de 1,0-1,5% da populao mundial esteja infectada com o VHC.
A probabilidade do indivduo infectado evoluir para a cronicidade >80%. Cerca de
20-50% dos doentes com infeco crnica desenvolvem cirrose e destes, 20 a 30%
vo progredir para o carcinoma hepatocelular ou para insuficincia heptica, reque-
rendo transplantao.
O VHC transmite-se preponderantemente por via parentrica (toxicodependncia de
uso endovenoso e recipientes de sangue ou derivados). A transmisso sexual de
baixa frequncia e de baixa eficincia, o mesmo podendo afirmar-se da transmisso
materno-neonatal. No h evidncia de transmisso fecal-oral.
Em Portugal existem cerca de 100.000 indivduos infectados pelo VHC, admitindo-se
que dos portadores crnicos deste vrus, 20.000 a 50.000 venham a desenvolver cir-
rose heptica nos prximos 10-20 anos.
F- HEPATITE VIRAL G
Perodo de incubao indefinido.
comum a viremia prolongada e a infeco persistente.
O ARN do VHG foi detectado em 1.5-1.7% dos dadores de sangue nos Estados Unidos.
Prevalncia do ARN do VHG em 10-20% de doentes com hepatite crnica, hepatite cr-
nica B, hepatite crnica C e cirrose criptognica.
Transmisso preponderante: parentrica.
3 PATOFISIOLOGIA
Mecanismos de imunidade celular esto na base da agresso hepatocitria pelo vrus
A e B. ainda incerta a interveno desses mecanismos na hepatite C.
Ainda que no exista evidncia inequvoca, postula-se que os vrus C e D tm um efei-
to citoptico directo.
As informaes quanto aos vrus E e G so ainda limitadas.
FGADO - Hepatite Viral Aguda
483
4 QUADRO CLNICO
A DOENA AUTO-LIMITADA
O espectro clnico da severidade da hepatite viral muito amplo, desde formas clni-
cas assintomticas e inoperantes, at fulminantes.
Os sindromas clnicos so similares para todos os agentes virais, iniciando-se com sin-
tomas prodrmicos constitucionais e gastro-intestinais:
Mal-estar, anorexia, nuseas e vmitos, astenia;
Sintomas de faringite, tosse, fotofobia, cefaleias e mialgias.
O incio dos sintomas usualmente abrupto para as hepatites A e E; nas restantes o
incio costuma ser insidioso.
A febre rara, excepto na hepatite A.
Os sintomas prodrmicos atenuam-se ou desaparecem com o incio da ictercia, embo-
ra pesistam a anorexia, o mal-estar e a astenia.
A colria precede a ictercia. Pode ocorrer prurido, usualmente ligeiro e transitrio,
medida que a ictercia se acentua.
O exame fsico revela hepatomeglia ligeira e hipersensibilidade na rea heptica.
Em 15-20% dos doentes detecta-se leve esplenomeglia, e palpam-se adenopatias
cervicais posteriores.
B DOENA FULMINANTE (Insuficincia heptica aguda)
Alteraes no estado mental (encefalopatia)
Letargia, sonolncia, coma
Alteraes da personalidade
Perturbaes no ritmo do sono
Edema cerebral (usualmente sem edema paplar)
Coagulopatia
Falncia multiorgnica:
Sindroma de insuficincia respiratria do adulto
Arritmia cardaca
Sindroma hepatorenal
Sepsis
Hemorragia gastrointestinal
Hipotenso arterial
Desenvolvimento de ascite, anasarca.
Mortalidade media: 60%.
Doenas do Aparelho Digestivo
484
C HEPATITE COLESTTICA
Ictercia predominante, persistindo durante vrios meses at resoluo completa.
O prurido costuma ser intenso.
Nalguns doentes, persistncia de anorexia e diarreia.
Prognstico excelente quando h resoluo completa.
Mais comumente observada na hepatite por vrus A.
D HEPATITE RECIDIVANTE
Recorrncia dos sintomas e das anomalias laboratoriais hepticas semanas ou meses
aps aparente recuperao.
Mais frequentemente observada na hepatite viral A.
Podem observar-se quadros de artrite, vasculite e crioglobulinmia.
O prognstico excelente aps resoluo completa, mesmo com vrias recorrncias
(particularmente comuns em crianas).
5 AVALIAO LABORATORIAL
A DOENA AUTO-LIMITADA
Achado bioqumico mais predominante: elevao marcada das transaminases.
Pico das aminotransferases (transaminase glutmico-pirvica (TGP) e transaminases
oxalactica (TGO): varia entre 500 a 5000 U/L.
Taxa de bilirrubinmia usualmente abaixo ao 10 mgr/ld, excepto na hepatie colestti-
ca.
Fosfatase alcalina srica normal ou levemente aumentada.
Tempo de protrombinmia normal ou aumentado de 1-3 segundos.
Albuminmia normal ou levemente diminuda.
Hemograma: normal ou ligeira leucopenia com ou sem linfocitose.
B HEPATITE FULMINANTE
Sinais laboratoriais de grave coagulopatia.
Leucocitose, hiponatrmia e hipocalimia.
Hipoglicmia.
Marcada elevao da bilirrubinmia e das aminotransferases. No entanto, estas podem
baixar com a progresso da doena.
FGADO - Hepatite Viral Aguda
485
C HEPATITE COLESTTICA
Os valores da bilirrubinmia podem exceder os 20 mgr/dl.
Os nveis das transaminases podem declinar at normalidade, apesar da colestase.
D HEPATITE RECIDIVANTE
Aps a aparente normalizao das transaminases e da bilirrubinmia durante a fase
de convalescena, assiste-se a uma nova elevao desses parmetros laboratoriais.
Os picos dessa reactivao podem exceder os detectados no episdio inicial.
6 HISTOPATOLOGIA
A HEPATITE AUTO-LIMITADA
Nesta forma de hepatite viral, a bipsia raramente realizada. O padro histolgico
caracterizado por:
Leso hepatocitria, com necrose focal, epleco de hepatcitos, balonizao e
corpos de Councilman (hepatcitos necrosados, hialinizados e mumificados).
Endoflebite, afectando as veias centrais.
Infiltrao difusa de celulas mononucleares.
B HEPATITE FULMINANE
A coagulopatia compromete habitualmente a bipsia heptica.
Necrose hepatocitria extensa e confluente.
Colapso da malha de reticulina.
Inflamao lobular.
Colestase de grau varivel.
C HEPATITE COLESTTICA
Degenerescncia hepatocitria e inflamao como na hepatite auto-limitada.
Rolhos biliares proeminentes nos canalculos hepatocitrios dilatados.
Ransformao pseudoglandular, com formao de estruturas ductulares formadas por
hepatocitos.
Doenas do Aparelho Digestivo
486
7 DIAGNSTICO
A DIAGNSTICO DIFERENCIAL
Hepatite txica e medicamentosa
Hepatite isqumica
Hepatite auto-imune
Hepatite alcolica
Obstruo aguda do tracto biliar
B DIAGNSTICO SEROLGICO
a) Hepatite Viral A
O IgM anti-VHA detecta-se durante a fase aguda, podendo manter-se positivo duran-
te alguns meses.
Na fase de convalescena, desenvolvimento do IgG anti-VHA e desaparecimento do
IgM anti-VHA.
A positividade do anti-VHA sem IgM anti-VHA indica infeco no passado.
b) Hepatite Viral E
Na fase aguda, positividade do IgM anti-VHE e/ou do ARN-VHE (nas fezes). O IgG anti-
VHE pode estar presente nesta fase.
A fase de convalescena, perda do ARN-VHE e do IgM anti-VHE, e desenvolvimento do
IgG anti-VHE.
O IgM anti-VHE pode persistir durante pelo menos seis semanas aps o pico da doen-
a.
O IgG anti-VHE pode continuar detectvel durante um longo perodo (at 20 meses).
c) Hepatite Viral B
O diagnstico serolgico estabelecido pela presena do AgHBs e do IgM anti-HBc
(anticorpo contra o antignio core do vrus B). So ambos usualmente positivos no
incio da hepatite B.
O AgHBs o primeiro marcador da infeco a aparecer, podendo desaparecer usual-
mente dentro de vrias semanas ou meses, antes do desaparecimento do IgM anti-
HBc.
Numa segunda linha de diagnstico devero ser pedidos os restantes marcadores:
AgHBe, anti-Hbe, anti-HBs e anti-HBc total.
A positividade do AgHBe significa, com grande probabilidade, replicao activa do
vrus B e portanto perigo de contgio. A Hbe indica, com algumas excepes, o incio
da evoluo para a cura.
FGADO - Hepatite Viral Aguda
487
Em mais de 95% dos casos, a evoluo para a cura, desaparecendo o AgHBs e o
AgHBe, e surgindo os trs anticorpos, anti-HBc, anti-Hbe e anti-HBs. Estes, em con-
junto, significam infeco no passado.
Em cerca de 5% dos casos,, o AgHBs permanece positivo por mais de seis meses aps
a sua deteco. Esta situao define o estado de portador crnico do AgHBs ou por-
tador crnico do vrus da hepatite B.
Nalgumas situaes, o AgHBs poder ser negativo na fase inicial. Nalguns casos, o
doente no referenciado precocemente, podendo ter negativado o AgHBs. Noutros
casos, se ocorrer infeco simultnea com outros vrus, estes podero inibir a repli-
cao do vrus da hepatite B e negativar o AgHBs. o caso, por exemplo, da co-infec-
o pelos vrus C ou delta.
d) Hepatite Viral D (delta)
Indivduos AgHBs positivos e com anticorpos anti-delta (anti-VHD). A demonstrao do
AgD no tecido heptico o mtodo mais especfico de diagnostico.
Co-infeco VHB/VHD = positividade para o AgHBs, presena do IgM anti-HBc e detec-
o do anti-VHD e/ou do ARN do VHD.
Superinfeco HVD em portador do VHB = positividade para o AgHBs, presena do
IgG anti-HBs, e positividade para o anti-VHD e/ou para o ARN do VHD.
e) Hepatite Viral C
Deteco de anticorpos anti-VHC num imunoensaio ELISA de segunda ou terceira gera-
o.
O anti-VHC detecta-se em cerca de 60% dos doentes durante a fase aguda da doen-
a; em cerca de 35% dos doentes com hepatite aguda C, positivo mais tardiamen-
te (semanas ou meses).
<5% dos indivduos infectados no desenvolvem anti-VHC.
Em populaes de baixa prevalncia da infeco C, os estes ELISA podem dar falsos
positivos. Para obviar a este inconveniente, existem actualmente dois ouros tipos de
testes: o ensaio do radioimunoblot (RIBA-2) e a reaco em cadeia da polimerase-
transcrio reversa (PCR-RT) para o ARN-VHC. Estes testes devem realizar-se em indi-
vduos assintomticos, que pertencem a populaes de baixo risco e que so positi-
vos no teste ELISA.
Nas populaes de elevada seroprevalncia (como toxicodependentes e doentes com
transaminases elevadas), o valor predizente positivo do rastreio com o teste ELISA
de cerca de 90%.
f) Hepatite Viral G
Ainda no existem testes serolgicos disponveis.
Doenas do Aparelho Digestivo
488
8 HISTRIA NATURAL
A HEPATITE AGUDAS A e E
Remisso clnica, histolgica e bioqumica completa dentro de 3-6 meses.
Situaes ocasionais de hepatite fulminante. Risco aumentado no adulto com mais de
40 anos (hepatite A), na mulher grvida (hepatite E).
No ocorre evoluo para a doena heptica crnica, nem existem portadores crni-
cos destes vrus.
B HEPATITE AGUDA B
O risco de infeco persistente depende da idade, declinando progressivamente com
o aumento desta: 90% dos recm-nascidos infectados tornam-se portadores crnicos,
e s 1-5% dos pacientes adultos desenvolvem uma infeco crnica pelo vrus B.
Em menos de 1% das infeces agudas ocorre num quadro de hepatite fulminante.
A infeco persistente pode determinar um estado de portador crnico do vrus B,
assintomtico e sem alteraes histolgicas hepticas; ou conduzir a processos de
hepatite crnica cirrose heptica e hepatocarcinoma. A infeco persistente pode asso-
ciar-se tambm a quadros de glomerulonefrite membranosa, poliarterite nodosa e crio-
globulinmia (?).
C HEPATITE AGUDA D
As co-infeces HVB/HVD so usualmente auto-limitadas e resolvem sem sequelas.
A hepatite fulminante D acontece mais frequentemente no contexto da superinfeco
do que no da co-infeco.
A superinfeco por vrus delta em indivduos infectados por vrus B pode conduzir
ao desenvolvimento de um processo severo de hepatite crnica e cirrose heptica.
D HEPATITE AGUDA C
A evoluo mais comum ( 85%) para a persistncia da infeco, com viremia pro-
longada e elevao das transaminases.
A persistncia da infeco pelo VHC conduz a uma doena heptica progressiva, de
evoluo usualmente lenta, culminando em quadros de hepatite crnica, cirrose hep-
tica ou carcinoma hepatocelular.
A infeco crnica C pode associar-se a crioglobulinmia mista, vasculite cutnea, glo-
FGADO - Hepatite Viral Aguda
489
merulonefrite membranosa proliferativa e porfria cutnea tarda.
A associao com a hepatite fulminante e rara.
E HEPATITE AGUDA G
Indefinio no tocante associao com hepatite fulminante, e frequncia de qua-
dros auto-limitados.
Est documentada a ocorrncia de infeco persistente pelo VHG.
Provvelmente no causa de doena heptica cronica.
9 TRATAMENTO
A INFECO AUTO-LIMITADA
Tratamento ambulatrio excepto em situaes de vmitos persistentes e anorexia
severa.
Ingesto calrica e fluida adequada.
No h recomendaes dietticas especficas.
Proibio do lcool durante a fase aguda.
Evitar actividade fsica vigorosa e prolongada.
Em caso de fadiga e mal-estar, limitao das actividades dirias e perodos de repou-
so.
No h tratamento farmacolgico especfico.
Eliminar todos os frmacos no essenciais.
B HEPATITE AGUDA FULMINANTE (ver captulo respectivo)
C HEPATITE COLESTTICA
A evoluo pode ser encurtada mediante a prescrio de prednisolona ou cido urso-
desoxiclico.
O prurido pode ser controlado com colestiramina.
Doenas do Aparelho Digestivo
490
10. PREVENO
A HEPATITE AGUDA A
1 Imunoprofilaxia pr-exposio
Vacinas inactivadas com formol obtidas a partir de estirpes atenuadas do VHA: mito
eficazes, altamente imunognicas, induzem anticorpos protectores em duas semanas,
seguras e bem toleradas.
Esquema de vacinao: administrao de duas doses de vacina, com a segunda dose
6-12 meses aps a primeira.
Indicaes da vacina: viajantes para zonas de elevada endemicidade, pessoal dos
infantrios, residentes em instituies para deficientes, toxicodependentes, homosse-
xuais, trabalhadores que manipulam alimentos, doentes com hepatopatias crnicas.
Como uma proporo muito importante da hepatite A ocorre em crianas, o objectivo
eventual ser a integrao da hepatite A nos programas nacionais de vacinao.
2 Imunoprofilaxia ps-exposio
No est estabelecida a eficcia da vacina neste contexto.
Pelo contrrio, est comprovada a eficcia dos preparados comerciais de gamaglobu-
linmia humana contendo anticorpos anti-VH.
Recomenda-se a administrao i.m. (deltde) desta imunoglobulina, na dose de 0,02
ml/kg de peso, aos contactos de casos de hepatite A at duas semanas depois do
contgio.
B HEPATITE AGUDA B
1 Inunoprofilaxia pr-exposio
Vacinas recombinantes derivadas da levedura: contm o AgHBs como antignio, muito
imunognica, eficaz em 85% - 95% dos vacinados.
Esquema de vacinao: injeco i.m. (deltide) de uma dose de 10 ou 20 g de AgHBs
no adulto; a criana recebe uma dose de 2.5, 5 ou 10 ug. Repetir a injeco inicial 1
a 6 meses mais tarde. O reforo no recomendado nos primeiros 10 anos depois da
imunizao inicial.
A OMS recomenda que a vacina seja includa nos programas nacionais d imunizao.
Para o controlo da hepatite B importante imunizar os recm-nascidos e os adoles-
centes (11-12 anos), os grupos de risco e rastrear todas as grvidas para o AgHBs.
2 - Inunoprofilaxia ps-exposio
A imunoprofilaxia da hepatite B em casos de contgio faz-se com globulina imune da
FGADO - Hepatite Viral Aguda
491
hepatite B (IGHB), um preparado de globulina imune contendo ttulos elevados de
anti-HBs, associado vacina da hepatite B.
Indicaes desta imunoprofilaxia. Contactos sexuiais susceptveis de indivduos com
hepatite aguda B, e recm-nascidos de mes AgHBs positivas identificadas durante a
gravidez.
Esquema de vacinao: para a primeira destas indicaes, administrao i.m. de 0.04-
0.07 ml/kg de IGHB o mais cedo possvel ps contgio. Primeira dose da vacina no
mesmo momento, e noutro local, ou dentro de dias. Segunda e terceira dose da vaci-
na administradas 1 a 6 meses mais tarde. Relativamente segunda das indicaes
referidas: administrao i.m. De 0.5ml de IGHB at 12 horas aps o parto.
Vacina da hepatite B, em doses de 5-10 ug, nas primeiras 12 horas do nascimento,
repetida 1 e 6 meses depois.
C - HEPATITE AGUDA D
No existem vacinas nem imunoglobulinas especficas disponveis.
A imunoprofilaxia est dependente da preveno da hepatite B, mediante a respecti-
va vacina.
D - HEPATITE AGUDA C
Ainda no esto disponveis mtodos de imunoprofilaxia.
O rastreio do anti-VHC nos dadores de sangue reduziu drsticamente a hepatite C
associada a transfuses.
Recomendam-se medidas cautelares na prtica sexual com indivduos infectados pelo
VHC.
E - HEPATITE AGUDA G
No disponvel qualquer informao sobre imunoprofilaxia nesta infeco.
Doenas do Aparelho Digestivo
492
FGADO - Hepatite Viral Aguda
493
REFERNCIAS
Zuckerman AJ, Thomas HC, eds. Viral hepatitis. Churchill Livingstone, 1997.
Seeff LB. Acute viral hepatitis. In: Kaplowitz N, ed. Liver and Biliary Diseases. William & Wilkins; 1992: 252-278.
Davis GL. Prophylaxis and treatment of viral hepatitis. In: Wolfe MM, ed. Therapy of Digestive Disorders. W.B.Saunders Co.; 2000: 289-306.
Andr FE. Epidemiology and prevention of hepatitis A. In: Arroyo V, Bosch J, Rods J, eds. Treatments in Hepatology.
Masson SA; 1995: 215-217.
Bruguera M, Salleras L. Epidemiology of hepatitis B virus infection in countries with intermediate prevalence. Immunization in teenagers.
In: Arroyo V, Bosch J, Rods J, eds. Treatments in Hepatology. Masson SA; 1995: 211-214.
Gonzalez A, Esteban JI. Prevention of transfusion-associated hepatitis C. In: Arroyo V, Bosch J, Rods J, eds.
Treatments in Hepatology. Masson SA; 1995: 219-223.
Carneiro de Moura M, ed. Hepatites vricas. Permanyer Portugal; 1997.
Purcell RH. The discovery of the hepatitis viruses. Gastroenterology; 1993, 104: 955-963.
Payan C, Lunel F. Le virus TT : un nouveau virus des hpatites? Gastroenterol Clin Biol; 1999, 23: 1207-1209.
Roudot-Thoraval F, Bastie A, Dhumeaux D. Epidmiologie des infections lies au virus de lhpatite C: volution rcente, perspectives.
Hepato-Gastro; 1999, 6(2): 101-106.
Deloince R, Leveque F, Crance JM, et al. Epidmiologie de lhpatite virale A. Gastroenterol Clin Biol; 1994, 18: 354-361.
Asselah T, Martinot M, Boyer N, et al. Variabilit gntique du virus de lhpatite C: implications cliniques.
Gastroenterol Clin Biol; 2000, 24: 175-184.
Touzet S, Kraemer L, Colin C, et al. Epidemiology of hepatitis C virus infection in seven European Union countries: a critical analysis of the
literature. European J Gastroenterol & Hepatology; 2000, 12: 667-678.
Pea LR, Naud S, Van Thiel. Hepatitis C virus infection and lymphoproliferative disorders. Dig Dis Sci; 2000, 45(9): 1854-1860.
Confrence internationale de consensus sur lhpatite C. Gastroenterol Clin Biol; 1999, 23: 730-735.
Orland JR, Wright TL, Cooper S. Acute Hepatitis C. Hepatology; 2000, 33(2): 321-327.
Hpatite B. Hepato-Gastro; 2000, vol.7 - Numro spcial.
Davis GL, ed. Hepatitis C. Clinics in Liver Disease; 1997, 1(3): 493-705.
Hadziyannis SJ. Viral hepatitis: clinical features. In: Bacon BR, Di Bisceglie AM, eds. Liver Disease. Diagnosis and Management.
Churchill Livingstone; 2000: 79-97.
Areias J, ed. Hepatites vricas. Porto, Medisa; 1996.
Ramalho F, Raimundo M, Glria H, et al. Histria natural da Hepatite Crnica C. Revista do Interno; 1993, 4 (supl.A): A47-A53.
Porto A, Carvalho A. Hepatitis B virus infection: revision of studies on some risk groups performed in the central region of Portugal.
Arq Medicina; 1991, 4: 157-162.
Tom Ribeiro A. Epidemiologia da infeco pelos vrus da hepatite C. Arq Hepato-Gastrenterol Port; 1992, 1: 80-87.
Carneiro de Moura M. Carcinoma hepatocelular e os vrus da hepatite B e C. J Port gastroenterol; 1995, 2: 38-41.
Leito S, Santos RM, Santos JC, et al. Hepatitis A prevalence in rural and urban Portuguese populations. Eur J Int Med; 1996, 7: 119-121.
Chu CM, Lin DY, Yeh CT, Sheen IS, Liaw YF. Epidemiological characteristics, risk factors, and clinical manifestations of acute non-A-E hepatitis.
J Med Virol. 2001 Oct;65(2):296-300.
Furusyo N, Hayashi J, Kakuda K, Ariyama I, Kanamoto-Tanaka Y, Shimizu C, Etoh Y, Shigematsu M, Kashiwagi S. Acute hepatitis C among
Japanese hemodialysis patients: a prospective 9-year study. Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1592-600.
Mochida S, Fujiwara K. Symposium on clinical aspects in hepatitis virus infection. 2. Recent advances in acute and fulminant hepatitis in
Japan. Intern Med. 2001 Feb;40(2):175-7.
Teo EK, Ostapowicz G, Hussain M, Lee WM, Fontana RJ, Lok AS. Hepatitis B infection in patients with acute liver failure in the United States.
Hepatology. 2001 Apr;33(4):972-6.
Whalley SA, Murray JM, Brown D, Webster GJ, Emery VC, Dusheiko GM, Perelson AS. Kinetics of acute hepatitis B virus infection in humans.
J Exp Med. 2001 Apr 2;193(7):847-54.
Chu CW, Hwang SJ, Luo JC, Wang YJ, Lu RH, Lai CR, Tsay SH, Wu JC, Chang FY, Lee SD. Comparison of clinical, virologic and pathologic
features in patients with acute hepatitis B and C. J Gastroenterol Hepatol. 2001 Feb;16(2):209-14.
Harris DR, Gonin R, Alter HJ, Wright EC, Buskell ZJ, Hollinger FB, Seeff LB. The relationship of acute transfusion-associated hepatitis to the
development of cirrhosis in the presence of alcohol abuse. Ann Intern Med. 2001 Jan 16;134(2):120-4.
Orland JR, Wright TL, Cooper S. Acute hepatitis C. Hepatology. 2001 Feb;33(2):321-7.
Ryder SD, Beckingham IJ. ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system: Acute hepatitis. BMJ. 2001 Jan 20;322(7279):151-3.
Gursoy M, Gur G, Arslan H, Ozdemir N, Boyacioglu S. Interferon therapy in haemodialysis patients with acute hepatitis C virus infection and
factors that predict response to treatment. J Viral Hepat. 2001 Jan;8(1):70-7.
Sood A, Midha V, Sood N. Guillain-Barre syndrome with acute hepatitis E. Am J Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3667-8.
McLaughlin K, Rizkalla KS, Adams PC, Grant DR, Wall WJ, Jevnikar AM, Marotta PJ. Hepatitis C infection is not associated with an increased
risk of acute liver allograft rejection. Transplant Proc. 2000 Dec;32(8):2814-6.
Stroffolini T, Mele A, Tosti ME, Gallo G, Balocchini E, Ragni P, Santonastasi F, Marzolini A, Ciccozzi M, Moiraghi A. The impact of the hepatitis
B mass immunisation campaign on the incidence and risk factors of acute hepatitis B in Italy. J Hepatol. 2000 Dec;33(6):980-5.
Sobao Y, Tomiyama H, Nakamura S, Sekihara H, Tanaka K, Takiguchi M. Visual demonstration of hepatitis C virus-specific memory CD8(+)
T-cell expansion in patients with acute hepatitis C. Hepatology. 2001 Jan;33(1):287-94.
Williams R, Riordan SM. Acute liver failure: established and putative hepatitis viruses and therapeutic implications.
J Gastroenterol Hepatol. 2000 Oct;15 Suppl:G17-25.
Pina S, Buti M, Cotrina M, Piella J, Girones R. HEV identified in serum from humans with acute hepatitis and in sewage of animal origin in
Spain. J Hepatol. 2000 Nov;33(5):826-33.
Kwon OS, Byun KS, Yeon JE, Park SH, Kim JS, Kim JH, Bak YT, Kim JH, Lee CH. Detection of hepatitis A viral RNA in sera of patients with
acute hepatitis A. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Sep;15(9):1043-7.
Curry MP, Koziel M. The dynamics of the immune response in acute hepatitis B: new lessons using new techniques.
Hepatology. 2000 Nov;32(5):1177-9.
Webster GJ, Reignat S, Maini MK, Whalley SA, Ogg GS, King A, Brown D, Amlot PL, Williams R, Vergani D, Dusheiko GM, Bertoletti A.
Incubation phase of acute hepatitis B in man: dynamic of cellular immune mechanisms. Hepatology. 2000 Nov;32(5):1117-24.
Reshef R, Sbeit W, Tur-Kaspa R. Lamivudine in the treatment of acute hepatitis B. N Engl J Med. 2000 Oct 12;343(15):1123-4.
Aggarwal R, Kini D, Sofat S, Naik SR, Krawczynski K. Duration of viraemia and faecal viral excretion in acute hepatitis E.
Lancet. 2000 Sep 23;356(9235):1081-2.
Lechner F, Gruener NH, Urbani S, Uggeri J, Santantonio T, Kammer AR, Cerny A, Phillips R, Ferrari C, Pape GR, Klenerman P. CD8+ T lymphocyte
responses are induced during acute hepatitis C virus infection but are not sustained. Eur J Immunol. 2000 Sep;30(9):2479-87.
Tokushige K, Yamaguchi N, Ikeda I, Hashimoto E, Yamauchi K, Hayashi N. Significance of soluble TNF receptor-I in acute-type fulminant
hepatitis. Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8):2040-6.
Tanaka E, Kiyosawa K. Natural history of acute hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;15 Suppl:E97-104.
Ostapowicz G, Lee WM. Acute hepatic failure: a Western perspective. J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;15(5):480-8.
Acharya SK, Panda SK, Saxena A, Gupta SD. Acute hepatic failure in India: a perspective from the East.
J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;15(5):473-9.
Bowen DG, Shackel NA, McCaughan GW. East meets West: acute liver failure in the global village.
J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;15(5):467-9.
Farci P, Shimoda A, Coiana A, Diaz G, Peddis G, Melpolder JC, Strazzera A, Chien DY, Munoz SJ, Balestrieri A, Purcell RH, Alter HJ. The outcome
of acute hepatitis C predicted by the evolution of the viral quasispecies. Science. 2000 Apr 14;288(5464):339-44.
Mele A, Tosti ME, Marzolini A, Moiraghi A, Ragni P, Gallo G, Balocchini E, Santonastasi F, Stroffolini T. Prevention of hepatitis C in Italy:
lessons from surveillance of type-specific acute viral hepatitis. SEIEVA collaborating Group. J Viral Hepat. 2000 Jan;7(1):30-5.
Blackberg J, Braconier JH, Widell A, Kidd-Ljunggren K. Long-term outcome of acute hepatitis B and C in an outbreak of hepatitis in 1969-72.
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2000 Jan;19(1):21-6.
Johnston DE. All patients with acute hepatitis must be observed until the acute liver injury resolves. West J Med. 2000 Jan;172(1):32-3.
Gronbaek K, Krarup HB, Moller H, Krogsgaard K, Franzmann M, Sonne J, Ring-Larsen H, Dietrichson O. Natural history and etiology of liver
disease in patients with previous community-acquired acute non-A, non-B hepatitis. A follow-up study of 178 Danish patients consecutively
enrolled in The Copenhagen Hepatitis Acuta Programme in the period 1969-1987. J Hepatol. 1999 Nov;31(5):800-7.
Bernal W, Wendon J. Acute liver failure; clinical features and management. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):977-84.
Fabris P, Tositti G, Mazzella G, Zanetti AR, Nicolin R, Pellizzer G, Benedetti P, de Lalla F. Effect of ursodeoxycholic acid
administration in patients with acute viral hepatitis: a pilot study. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Sep;13(9):1187-93.
Parana R, Vitvitski L, Andrade Z, Trepo C, Cotrim H, Bertillon P, Silva F, Silva L, de Oliveira IR, Lyra L. Acute sporadic non-A, non-B hepatitis
in Northeastern Brazil: etiology and natural history. Hepatology. 1999 Jul;30(1):289-93.
Chitkara YK, Fontes MD. Guidelines for serological testing in the diagnosis of acute hepatitis A and B.
Diagn Microbiol Infect Dis. 1999 Apr;33(4):241-5.
Villano SA, Vlahov D, Nelson KE, Cohn S, Thomas DL. Persistence of viremia and the importance of long-term follow-up after acute hepatitis
C infection. Hepatology. 1999 Mar;29(3):908-14.
Oketani M, Higashi T, Yamasaki N, Shinmyozu K, Osame M, Arima T. Complete response to twice-a-day interferon-beta with standard
interferon-alpha therapy in acute hepatitis C after a needle-stick. J Clin Gastroenterol. 1999 Jan;28(1):49-51.
Doenas do Aparelho Digestivo
494
FGADO - Hepatite Viral Crnica
495
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXIII
HEPATITE VIRAL CRNICA
1. Hepatite Crnica B
2. Hepatite Crnica D
3. Hepatite Crnica C
495
Doenas do Aparelho Digestivo
A hepatite viral crnica definida pela persistncia de inflamao heptica durante
um perodo igual ou superior a seis meses aps a exposio inicial e/ou a deteco
inicial da doena heptica.
No momento actual, est comprovado que os vrus B, C e D podem causar um qua-
dro de hepatite crnica. Desconhece-se ainda o papel do vrus G na gnese deste pro-
cesso.
As complicaes da hepatite crnica so a cirrose e o carcinoma hepatocelular.
1. HEPATITE CRNICA B
A EPIDEMIOLOGIA
Cerca de 5% da populao mundial portadora crnica do vrus da hepatite B (VHB).
Existem grandes variaes geogrficas na prevalncia deste vrus. No Mdio Oriente,
sia e frica, a prevalncia elevada (8-15%). Na Europa ocidental e nos E.U.A., a
taxa de prevalncia mais baixa (0.2 1%).
So factores de risco de transmisso: vrios parceiros sexuais, homossexualidade,
toxicodependncia (injectveis), hemodilise, domiclio ou nascimento em zonas de
elevada endemicidade, profissionais de sade.
H quatro subtipos antignicos do VHB (adw, ayw, adr, ayr), com variaes geogrfi-
cas na sua distribuio, no existindo diferenciaes significativas entre elas no tocan-
te expresso clnica.
B CLINICA E HISTRIA NATURAL
A infeco aguda usualmente pouco severa. O risco de cronicidade depende da
idade (recm-nascido 90%, infncia 50%, adulto <5%) e da capacidade imunitria do
doente (adulto imunodeprimido >50%).
O espectro clnico da hepatite crnica B variegado: infeces assintomticas, quei-
xas no especficas (fadiga, dor no hipocndrio direito, artralgias), ou, na doena
avanada, complicaes da cirrose (hemorragia digestiva, encefalopatia, ascite, infec-
o e carcinoma hepatocelular).
Podem ocorrer manifestaes clnicas extra-hepticas: artralgias (comuns), glomerulo-
nefrite (rara), poliarterite nodosa (rara), vasculite (rara), crioglobulinmia mista essen-
cial (rara), pericardite (rara) e pancreatite (rara).
Cerca de 50% dos portadores crnicos do VHB evidenciam replicao viral (positivi-
dade do AgHBe e/ou do ADN-VHB).
FGADO - Hepatite Viral Crnica
497
Em estudos de controlo longitudinais, a perda espontnea do AgHBe de 7-20% por
ano.
A perda espontnea do AgHBs ocorre menos frequentemente (1-2% por ano).
15-20% dos portadores crnicos desenvolvem cirrose heptica dentro de 5 anos aps
o incio da doena, com sobrevida a mdio prazo significativamente encurtada (cerca
de 55% aos 5 anos).
O risco de carcinoma hepatocelular aumenta mais de 10 vezes em doentes com hepa-
tite crnica B. Nas zonas onde o VHB endmico, este tipo de carcinomas a pri-
meira causa de morte por cancro.
C TESTES SEROLGICOS E VIROLGICOS
Na infeco persistente ou crnica, os marcadores da infeco por vrus B permane-
cem positivos durante seis meses ou mais, subsistindo tambm elevao das transa-
minases (50 a 200 U/L) em muitos casos.
Embora seja tipicamente observado na infeco aguda, o IgM anti-HBc pode ocasio-
nalmente detectar-se na reactivao da infeco crnica.
A replicao viral activa definida pela presena do AgHBe e/ou do ADN-VHB.
importante sublinhar que nalgumas situaes de hepatite crnica B, o anti-HBe
positivo (mutante), equivalendo a uma mutao da regio pre-core do genoma vrico.
Estes doentes devem ser avaliados, no tocante replicao viral, atravs da determi-
nao do ADN-VHB.
Os doentes com hepatite crnica B, AgHBe ou anti-Hbe positivos, tm indicao para
teraputica antivrica.
Doenas do Aparelho Digestivo
498
AgHBs Infeco persistente
IgM anti-HBc Infeco recente ou reactivao de infeco crnica
IgG anti-HBc + anti-HBs Infeco no passado
IgG anti-HBc isolado Infeco no passado, infeco leve ou falso-positivo
AgHBe Replicao viral activa
Anti-HBe Baixa replicao e infecciosidade
DNA-VHB Doena activa, com replicao viral activa
DNA-VHB, sem presena de AgHBe Mutao no pre-core do genoma do virus. Associado a
hepatite fulminante ou doena heptica agressiva
MARCADORES SEROLGICOS E VIROLGICOS DO VHB
MARCADOR ESTADO DA DOENA / INTERPRETAO
D PATOGENIA / HISTOPATOLOGIA
O vrus da hepatite B fortemente hepatotrpico, mas pode detectar-se igualmente
noutros locais (gnglios linfticos, clulas mononucleares do sangue perifrico).
A agresso heptica pelo VHB resulta essencialmente de uma resposta imunolgica
do hospedeiro. Essa resposta, mediada por linfcitos T citotxicos, dirigida contra
o AgHBc induzindo a lise imunolgica dos hepatcitos infectados, de que resultam
fenmenos de hepatite ou a eliminao do vrus. Vrias citoquinas teriam um papel
importante nesta clearance viral.
Uma resposta hiperactiva do hospedeiro pode conduzir a um quadro de hepatite ful-
minante. Uma resposta mais atenuada aumentaria o risco de infeco crnica.
Na bipsia heptica, salienta-se um infiltrado linfocitrio de predomnio portal e um
aspecto em vidro despolido dos hepatcitos, reflectindo a produo do AgHBs. O
AgHBe pode ser evidenciado no ncleo, no citoplasma ou na membrana celular dos
hepatcitos.
Batts e Ludwig (1995) desenvolveram uma escala estandardizada para a interpretao
da histologia da hepatite crnica, quer no tocante ao processo necro-inflamatrio,
quer no respeitante ao grau de fibrose:
FGADO - Hepatite Viral Crnica
499
GRADUAO DA ACTIVIDADE DA HEPATITE CRNICA
Grau Descrio Piecemeal Necrose Inflamao Lobular e Necrose
0 Inflamao portal
1 Mnima Mnima Mnima
2 Leve Leve Leve
3 Moderada Moderada Moderada
4 Severa Severa Severa
GRADUAO DA ACTIVIDADE DA HEPATITE CRNICA
Grau Descrio Critrio
0 Sem fibrose Tecido conectivo normal
1 Fibrose portal Fibrose portal em expanso
2 Fibrose periportal Septos periportais; raros septos porta-portais
3 Fibrose septal Septos fibrticos com distorso arquitectural
4 Cirrose Cirrose
E TERAPUTICA
1 Objectivos do tratamento:
Preveno de complicaes
Reduo da mortalidade
Melhoria sintomtica
Eliminao do ADN-VHB
Seroconverso do AgHBe positivo em anti-AgHBe positivo
Normalizao das transaminases
Reduo do processo inflamatrio heptico (aferido por bipsia)
2 Frmacos
a) Interfero
Determina a eliminao do AgHBe e do DNA-VHB em cerca de um tero dos doentes
tratados.
Factores associados a melhor resposta:
Nveis elevados de transaminases
Nveis baixos do DNA-VHB (<200 pg/ml)
Curta durao da infeco
Quadro histolgico de hepatite activa
Dentre as diferentes classes de interfero, , e gama, s o interfero- evidenciou,
de forma consistente, eficcia no tratamento da hepatite crnica viral.
O regime mais eficaz parece ser a administrao, durante 16 semanas, de interfero
alfa-2b, numa dose diria de 5 milhes de unidades, por via subcutnea. Em alterna-
tiva, aconselha-se a dose de 10 milhes de unidades, trs vezes por semana, embo-
ra com mais efeitos secundrios.
S 2-10% dos doentes necessitam interromper o tratamento, por efeitos secundrios.
Em 10-20% dos doentes h necessidade de reduo da dose, ou de interrupo tem-
porria, por reaces secundrias.
Usualmente os efeitos secundrios do frmaco so confinados a febrcula, arrepios,
mialgias, artralgias e cefaleias. importante monitorizar os doentes semanalmente
durante o primeiro ms, e depois mensalmente, para detectar eventuais complicaes
de leucopenia, neutropenia ou trombocitopenia.
O interfero no deve ser utilizado, ou deve ser administrado com grande prudncia,
na cirrose descompensada, em situaes de citopenia, na depresso ou outras condi-
Doenas do Aparelho Digestivo
500
es psiquitricas, na insuficincia cardaca, na diabetes mal controlada, nas doenas
convulsivas e nas doenas auto-imunes.
b) Lamivudina
Forma galnica oral disponvel.
Inibidor da transcriptase reversa viral (protena P), essencial na replicao viral.
Frmaco bem tolerado, induz inibio mantida da replicao em 30% dos doentes.
Presentemente a lamivudina est sendo ensaiada em vrias doses, isolada ou em
combinao com o interfero. A dose mais usualmente aconselhada de 100 mg
por dia, no estando ainda determinada a durao ptima de tratamento. Um pro-
blema emergente o aparecimento de mutantes resistentes lamivudina.
3 Transplantao heptica
Teraputica de eleio em doentes com hepatopatia crnica avanada
Sem precaues especficas, a recorrncia da infeco pelo VHB sistemtica e reduz
a sobrevida ps-transplante.
A imunoglobulina da hepatite B (IGHB) administrada durante e aps a interveno,
reduz a recorrncia e aumenta a sobrevida. Este tratamento caro e tem de ser minis-
trado indefinidamente.
Tm sido obtidos resultados promissores, neste contexto de transplantao heptica,
mediante a utilizao de anlogos de nuclesidos (lamivudina) e da vacina da hepa-
tite B.
2 HEPATITE CRNICA D
A CLNICA E HISTRIA NATURAL
Sintomas no especficos. Deve suspeitar-se de infeco pelo VHD nas situaes de:
infeco fulminante pelo VHB, hepatite aguda B que recupera mas subsequentemen-
te recidiva, hepatopatia crnica progressiva por VHB, na ausncia de replicao viral
B.
A co-infeco VHB + VHD induz uma hepatite aguda mais severa e associa-se a aumen-
to de risco de falncia heptica fulminante.
A taxa de cronicidade aps co-infeco B + D similar da infeco isolada pelo vrus
B.
A superinfeco por VHD no doente com infeco crnica por vrus B acelera a hist-
ria natural da hepatite crnica B.
FGADO - Hepatite Viral Crnica
501
B TESTES SEROLGICOS E VIROLGICOS
O diagnstico da infeco delta faz-se pela presena do AgHBs e de anticorpos anti-
delta.
A persistncia do IgM anti-VHD e/ou de ttulos muito elevados de IgG anti-VHD,
sugestiva de perpectuao da infeco pelo VHD.
A evidenciao do AgD no tecido heptico, onde se detecta no ncleo dos hepatci-
tos infectados, o mtodo de diagnstico mais especfico.
C TRATAMENTO
O tratamento da hepatite crnica delta , de momento, o interfero alfa mas os resul-
tados no so bons. Com a dose recomendada, de 9 MU, 3 vezes por semana, duran-
te 1 ano, observa-se uma resposta inicial em cerca de 50% dos doentes. No entanto,
os resultados virolgicos raramente so mantidos.
A transplantao da cirrose delta tem melhores resultados que a cirrose B e o risco
de recorrncias bastante menor, provvelmente pelos efeitos inibitrios do VHD na
replicao do vrus B.
3 HEPATITE CRNICA C
A CLNICA / HISTRIA NATURAL
A maioria das infeces agudas so assintomticas, embora possa ocorrer ictercia.
A astenia a queixa mais frequente na infeco crnica. Outros sintomas incluem
depresso, nuseas, anorexia, desconforto abdominal e dificuldades na concentrao.
Na doena heptica avanada podem surgir a ascite, a encefalopatia e a hemorragia
gastrointestinal por hipertenso portal.
A infeco, uma vez estabelecida, persiste na maioria dos casos (>80%).
A progresso da doena usualmente silenciosa, sendo a infeco pelo vrus C fre-
quentemente diagnosticada no contexto de um estudo bioqumico de rotina ou por
ocasio de uma ddiva de sangue.
O carcinoma hepatocelular ocorre em cerca de 15% dos doentes com cirrose C.
Estudos prospectivos tm indicado que so necessrios 20-30 anos de infeco para
que se desenvolvam leses hepticas significativas.
Doenas do Aparelho Digestivo
502
Podem ocorrer manifestaes extra-hepticas da infeco crnica C, por deposio de
imunocomplexos associados com o vrus ou partculas virais:
Glomerulonefrite proliferativa
Crioglobulinmia mista
Porfria cutnea tardia
Vasculite e fibrose pulmonar
B TESTES SEROLGICOS E VIROLGICOS
O diagnstico assenta na deteco de anticorpos anti-VHC. Existem correntemente tes-
tes serolgicos que utilizam antignios recombinantes derivados do VHC: ELISA-1 e
ELISA-2, com sensibilidades de 89% e 100%, respectivamente, e especificidades de
92% e 68%; alm destes testes de imunoensaio enzimtico, utilizam-se tambm
ensaios de radioimunoblot, RIBA-1 e RIBA-2, o primeiro com uma sensibilidade de
98% e uma especificidade de 97%, e o segundo com uma especificidade de cerca de
100%. A sensibilidade e a especificidade destes testes depende, no entanto, da pre-
valncia da infeco na populao em estudo.
Alm destes testes de diagnstico, pode ainda detectar-se o ARN-VHC por tcnicas de
PCR ou de hibridizao, designadamente antes de iniciar teraputica da infeco, e
para a monitorizao dessa teraputica.
C PATOGENIA E HISTOPATOLOGIA
Foram propostos trs mecanismos na patognese da agresso heptica pelo VHC:
Efeito citoptico directo
Inflamao e destruio hepatocitria por mecanismos de imunidade celular
Auto-imunidade induzida pelo vrus
D TERAPUTICA
1 Frmacos
a) Interfero
actualmente o tratamento indicado no tratamento da infeco crnica C.
A sua eficcia a longo prazo, avaliada numa resposta sustentada (normalizao das
transaminases sricas e eliminao do ARN-VHC srico seis meses aps a concluso
do tratamento), no ultrapassa os 20-30%.
FGADO - Hepatite Viral Crnica
503
A dose padro do interfero alfa de 3 MU, 3 vezes por semana, durante 6 meses.
Aumentando a durao da teraputica (para 12-18 meses), aumenta em cerca de 10%
a taxa de resposta sustentada, custa, no entanto, de um agravamento aprecivel no
custo do tratamento. O aumento das doses semanais induz um incremento nos efei-
tos secundrios do frmaco.
A resposta ao interfero mais favorvel nos seguintes casos: baixa carga viral antes
do incio do tratamento, gentipo no 1, ausncia de cirrose, G-GT normal, baixo teor
em ferro na bipsia heptica, ausncia de leso biliar, mutaes na regio NS5b, tra-
tamento durante 12-18 meses.
A combinao do interfero com outros agentes (ribavirina, timosina ou cido ursode-
soxiclico) pode melhorar os ndices de resposta.
b) Ribavirina
um agente antiviral com actividade contra vrus ADN e ARN, incluindo os Flaviviridae.
O seu mecanismo de aco no est ainda esclarecido, mas parece actuar pela inibi-
o das citocinas pr-inflamatrias induzidas pela infeco vrica.
Trabalhos recentes evidenciam que a associao de interfero + ribavirina induz maior
benefcio teraputico do que o interfero isolado, constituindo actualmente o padro
internacional de tratamento da hepatite crnica C em doentes no submetidos a tra-
tamento prvio, ou nos doentes que apresentam recidiva com patologia heptica com-
pensada.
Um avano relevante obtido mais recentemente residiu na preguilao do interfero alfa-
2b. Esta modificao, que liga o polietilenoglicol (PEG) molcula de interfero alfa-2b,
melhorou considervelmente as suas propriedades farmacolgicas. De facto o interfero
preguilado tem menor depurao renal, aumentando a sua semi-vida plasmtica de
cerca de 4 horas para 40 horas. Consequentemente, a actividade antiviral mxima man-
tm-se por perodo mais prolongado. A semi-vida aumentada o e perfil farmacocintico
resultante so compatveis com a aplicao do produto 1 x semana.
O interfero peguilado, na dose de 1.5 mg/kg 1 x semana + Ribavirina, na dose de 800
mgr/dia, constitui presentemente a associao medicamentosa com melhor resposta
virolgica sustentada
2 Transplantao heptica
A hepatite crnica C representa actualmente, escala mundial, a indicao mais fre-
quente para transplantao heptica.
A recorrncia ps-transplantao um evento sistemtico.
Existe evidncia histolgica de leso heptica em cerca de 50% dos casos, ao fim de
um ano, percentagem que vai aumentando com o tempo.
Neste contexto, os testes virolgicos so mais fidedignos do que os testes serolgi-
cos para a deteco da infeco.
Doenas do Aparelho Digestivo
504
A sobrevida a curto prazo similar dos doentes transplantados por doenas no
virais.
O tratamento com interfero deve ser usado com precauo nestas situaes, na
medida em que pode aumentar o risco de rejeio do enxerto.
3 Outras medidas
Os doentes com hepatite C devem ser vacinados para a hepatite A e B, porque a supe-
rinfeco pode determinar maior morbilidade e mortalidade.
Os doentes com cirrose heptica por VHC devem ser submetidos peridicamente a ras-
treio do hepatocarcinoma. Uma das recomendaes propostas a determinao
semestral ou anual da alfafetoprotena associada realizao de um estudo ecogrfi-
co do fgado.
FGADO - Hepatite Viral Crnica
505
Doenas do Aparelho Digestivo
506
REFERNCIAS
Zuckerman AJ, Thomas HC, eds. Viral hepatitis. Churchill Livingstone, 1997.
Davis GL, ed. Hepatitis C. Clinics in Liver Diseases; 1997, 1(3): 493-705.
Di Bisceglie AM, Hoofnagle JH. Management of chronic viral hepatitis. In: Bacon BR, Di Bisceglie AM, eds. Liver Disease.
Diagnosis and Management. Churchill Livingstone; 2000: 98-106.
Di Bisceglie AM, ed. Treatment advances in chronic hepatitis C. Semin in Liver Disease; 1999, 19 (suppl 1): 1-112.
Pons JA. Role of liver transplantation in viral hepatitis. J Hepatology; 1995, 22 (suppl 1): 146-153.
Rosenberg PM, Dienstag JL. Therapy with nucleoside analogues for hepatitis B virus infection. Clin in Liver Dis; 1999, 3(2): 349-361.
Chien R-N, Liaw Y-F, Atkins M. Pretherapy alanine transaminase level as a determinant for hepatitis B antigen seroconvertion during
lamivudine therapy in patients with chronic hepatitis B. Hepatology; 1999, 30: 770-774.
Schalm SW, Heathcote J, Cianciara J, et al. Lamivudine and alpha-interferon combination treatment of patients with chronic hepatitis B
infection: a randomised trial. Gut; 2000, 46: 562-568.
Serejo F, Glria H, Marinho R, et al. Hepatite C e fenmenos de autoimunidade. Implicaes na teraputica com interfero.
GE J Port Gastroenterol; 1995, 2: 114-120.
Schalm SW, Weiland O, Hansen BE, et al. Interferon-ribavirin for chronic hepatitis C with and without cirrhosis: analysis of individual
patient data of six controlled trials. Gastroenterology; 1999, 117: 408-413.
Carvalho ASP. Hepatite Crnica C. Tese de Doutoramento. Coimbra; 1996.
Conferncia de consenso sobre hepatite C. GE J Port Gastroenterol; 1999, 6(4) - Suplemento.
Carneiro de Moura M. Interferes peguilados na Hepatite C: outro passo em frente. GE J Port Gastroenterol; 2001, 8(2): 102-104.
Serejo F, Raimundo M, Marinho R, et al. Gentipos e ARN do vrus da hepatite C na resposta a longo prazo da hepatite C crnica ao
interfero. GE J Port Gastroenterol; 1997, 4(4): 213-220.
Ramalho F, Serejo F, Raimundo M, et al. Gentipos do vrus da hepatite C sua importncia na forma de transmisso e na gravidade da
doena heptica. GE J Port Gastroenterol; 1997, 4(2): 70-76.
Ramalho F, Raimundo M, Serejo F, et al. Hepatite crnica no-A, no-B, no-C, identificada pela tcnica da PCR: implicaes clnicas e
diagnsticas. GE J Port Gastroenterol; 1998, 5(2): 89-93.
Ramalho F, Raimundo M, Gouveia A, et al. Interfero alfa-2b na hepatite crnica C: anlise dos factores clnicos predizentes da resposta
ao tratamento. GE J Port Gastroenterol; 1996, 3(4): 278-283.
Carneiro de Moura M. O vrus da hepatite G/VGB-C. GE J Port Gastroenterol; 1996, 3(4): 312-317.
Valente AI, Ramalho F, Gouveia A, et al. Cirrose heptica associada infeco pelo vrus da hepatite C. Factor predizente da resposta ao
alfa-interfero? GE J Port Gastroenterol; 1997, 4(1): 1-5.
Marinho R, Giria J, Ferrinho P, Carneiro de Moura M. Aspectos epidemiolgicos da hepatite C em Portugal.
GE J Port Gastroenterol; 2000, 7(2): 72-79.
Camacho R. Diagnstico e monitorizao laboratorial da infeco pelo vrus da hepatite C. GE J Port Gastroenterol; 2000, 7(2): 101-104.
Almasio P, Camm C, Giunta M. Hepatitis B: prognosis and treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B, eds.
Evidence Based Gastroenterology & Hepatology. BMJ Books; 1999: 305-321.
Marcellin P. Hepatitis C: diagnosis and treatment. . In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B, eds. Evidence Based
Gastroenterology & Hepatology. BMJ Books; 1999: 294-304.
Torresi J, Locarnini S. Antiviral chemotherapy for the treatment of hepatitis B virus infections. Gastroenterology; 2000, 118(2), suppl 1: 83-103.
Davis GL. Current therapy for chronic hepatitis C. Gastroenterology; 2000, 118(2), suppl.1: 104-114.
Velosa J. Infeco crnica pelo vrus da hepatite B. Tese de Doutoramento. Lisboa, 1992.
Ramalho F, Carvalho G, Bonino F, et al. Clinical and epidemiological significance of hepatitis Delta virus infection in chronic HBV in Portugal.
Progress in Clinical and Biological Research; 1987, 234: 409-417.
Shad JA, McHutchinson JG. Current and future therapies of hepatitis C. Clinics in Liver Disease; 2001, 5(2): 335-360.
Kozlowski A, Charles SA, Harris JM. Development of pegylated interferons for the treatment of chronic hepatitis C.
BioDrugs. 2001;15(7):419-29.
Walsh K, Alexander GJ. Update on chronic viral hepatitis. Postgrad Med J. 2001 Aug;77(910):498-505.
Davis GL. Combination treatment with interferon and ribavirin for chronic hepatitis C. Clin Liver Dis. 1999 Nov;3(4):811-26.
Ahmed A, Keeffe EB. Overview of interferon therapy for chronic hepatitis C. Clin Liver Dis. 1999 Nov;3(4):757-73.
Anand BS, Velez M. Influence of chronic alcohol abuse on hepatitis C virus replication. Dig Dis. 2000;18(3):168-71.
Michel ML, Pol S, Brechot C, Tiollais P. Immunotherapy of chronic hepatitis B by anti HBV vaccine: from present to future.
Vaccine. 2001 Mar 21;19(17-19):2395-9.
Nguyen HA, Ho SB. Natural history of chronic hepatitis C: identifying a window of opportunity for intervention.
J Lab Clin Med. 2001 Mar;137(3):146-54.
Perrillo RP. Acute flares in chronic hepatitis B: the natural and unnatural history of an immunologically mediated liver disease.
Gastroenterology. 2001 Mar;120(4):1009-22.
Chitturi S, George J. Predictors of liver-related complications in patients with chronic hepatitis C. Ann Med. 2000 Dec;32(9):588-91.
Ferenci P. Therapy of chronic hepatitis C. Wien Med Wochenschr. 2000;150(23-24):481-5.
Cummings KJ, Lee SM, West ES, Cid-Ruzafa J, Fein SG, Aoki Y, Sulkowski MS, Goodman SN. Interferon and ribavirin vs interferon alone in
the re-treatment of chronic hepatitis C previously nonresponsive to interferon: A meta-analysis of randomized trials.
JAMA. 2001 Jan 10;285(2):193-9.
Lin OS, Keeffe EB. Current treatment strategies for chronic hepatitis B and C. Annu Rev Med. 2001;52:29-49.
Ryder SD, Beckingham IJ. ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system: Chronic viral hepatitis. BMJ. 2001 Jan 27;322(7280):219-21.
Koff RS. Combination therapy in naive patients with chronic hepatitis C: more value for the money. J Hepatol. 2000 Oct;33(4):664-6.
Heathcote J. Antiviral therapy for patients with chronic hepatitis C. Semin Liver Dis. 2000;20(2):185-99.
Leung N. Nucleoside analogues in the treatment of chronic hepatitis B. J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;15 Suppl:E53-60.
Lok AS. Lamivudine therapy for chronic hepatitis B: is longer duration of treatment better? Gastroenterology. 2000 Jul;119(1):263-6.
Davis GL. Current therapy for chronic hepatitis C. Gastroenterology. 2000 Feb;118(2 Suppl 1):S104-14.
Kasahara A. Treatment strategies for chronic hepatitis C virus infection. J Gastroenterol. 2000;35(6):411-23.
Camma C, Craxi A. Chronic hepatitis C: retreatment of relapsers. An evidence-based approach. Semin Gastrointest Dis. 2000 Apr;11(2):115-21.
Killenberg PG. Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C. Semin Gastrointest Dis. 2000 Apr;11(2):62-8.
Malik AH, Lee WM. Chronic hepatitis B virus infection: treatment strategies for the next millennium. Ann Intern Med. 2000 May 2;132(9):723-31.
Thio CL, Thomas DL, Carrington M. Chronic viral hepatitis and the human genome. Hepatology. 2000 Apr;31(4):819-27.
Gordon SC. Antiviral therapy for chronic hepatitis B and C. Which patients are likely to benefit from which agents?
Postgrad Med. 2000 Feb;107(2):135-8, 141-4.
Koff RS. Cost-effectiveness of treatment for chronic hepatitis C. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:255-8.
Barnes E, Webster G, Jacobs R, Dusheiko G. Long-term efficacy of treatment of chronic hepatitis C with alpha interferon or alpha interferon
and ribavirin. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:244-9.
Civeira MP, Prieto J. Early predictors of response to treatment in patients with chronic hepatitis C. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:237-43.
Lindsay KL. Treatment of chronic hepatitis C: comparative virologic response rates among the different interferons.
J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:232-6.
Davis GL. New schedules of interferon for chronic hepatitis C. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:227-31.
Pol S, Zylberberg H, Fontaine H, Brechot C. Treatment of chronic hepatitis C in special groups. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:205-9.
Bonino F, Oliveri F, Colombatto P, Coco B, Mura D, Realdi G, Brunetto MR. Treatment of patients with chronic hepatitis C and cirrhosis.
J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:197-200.
Tassopoulos NC. Treatment of patients with chronic hepatitis C and normal ALT levels. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:193-6.
Schalm SW, Brouwer JT, Bekkering FC, van Rossum TG. New treatment strategies in non-responder patients with chronic hepatitis C.
J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:184-8.
Poynard T, Moussali J, Ratziu V, Regimbeau C, Opolon P. Effects of interferon therapy in non responder patients with chronic hepatitis C.
J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:178-83.
Buti M, Esteban R. Retreatment of interferon relapse patients with chronic hepatitis C. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:174-7.
Weiland O. Treatment of naive patients with chronic hepatitis C. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:168-73.
Craxi A, Camma C, Giunta M. Definition of response to antiviral therapy in chronic hepatitis C. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:160-7.
Thomas HC, Torok ME, Forton DM, Taylor-Robinson SD. Possible mechanisms of action and reasons for failure of antiviral therapy in chronic
hepatitis C. J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:152-9.
Hagmeyer KO, Pan YY. Role of lamivudine in the treatment of chronic hepatitis B virus infection. Ann Pharmacother. 1999 Oct;33(10):1104-12.
Cerny A, Chisari FV. Pathogenesis of chronic hepatitis C: immunological features of hepatic injury and viral persistence. Hepatology. 1999
Sep;30(3):595-601.
Jarvis B, Faulds D. Lamivudine. A review of its therapeutic potential in chronic hepatitis B. Drugs. 1999 Jul;58(1):101-41.
Imperial JC. Natural history of chronic hepatitis B and C. J Gastroenterol Hepatol. 1999 May;14 Suppl:S1-5.
Davis GL. Combination therapy with interferon alfa and ribavirin as retreatment of interferon relapse in chronic hepatitis C.
Semin Liver Dis. 1999;19 Suppl 1:49-55.
Gish RG. Standards of treatment in chronic hepatitis C. Semin Liver Dis. 1999;19 Suppl 1:35-47.
Shiffman ML. Use of high-dose interferon in the treatment of chronic hepatitis C. Semin Liver Dis. 1999;19 Suppl 1:25-33.
FGADO - Hepatite Viral Crnica
507
Doenas do Aparelho Digestivo
FGADO - Doena Hpatica Alcolica
509
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXIV
DOENA HEPTICA ALCOLICA
1. Epidemiologia
2. Factores de Risco
3. Patofisiologia
4. Histopatologia
5. Diagnstico
6. Teraputica e Prognstico
509
Doenas do Aparelho Digestivo
1. EPIDEMIOLOGIA
conhecida, desde h sculos, a associao entre o consumo excessivo de lcool e
o desenvolvimento de doena heptica crnica (DHA). Apesar disso, o consumo de
lcool continua a ser um problema de sade pblica, designadamente em Portugal,
sendo a droga de que se abusa mais em todo o mundo.
Nos E.U.A. estima-se que h pelo menos 10 milhes de alcolicos, representando
cerca de 6% a 7% da populao adulta. Em Portugal, essa percentagem provvelmen-
te j foi ultrapassada. Os custos sociais decorrentes so enormes, 10% dos quais so
custos directos mdicos associados ao alcoolismo. A maioria dos custos clnicos so
atribudos ao desenvolvimento da cirrose heptica e suas complicaes.
Continua a ser um mistrio a razo porque s uma fraco dos seres humanos pade-
ce de alcoolismo. provvel que factores genticos, sociais e psicolgicos desempe-
nhem um papel potencial e cumulativo.
Tambm ainda desconhecido o motivo porque s 10-15% dos alcolicos crnicos
desenvolvem quadros de cirrose heptica, e porque no se evidencia leso heptica
clinicamente aparente em cerca de um tero dos alcolicos.
Existe uma relao entre o consumo total de etanol e a doena heptica alcolica. Os
indivduos do sexo masculino que desenvolvem quadros avanados de leso hepti-
ca, exibem um padro de consumo alcolico caracterizado tipicamente pela ingesto
diria de 80 gr ou mais de etanol, durante 10 ou mais anos. Na mulher, esse limiar
menor, estimando-se em cerca de 40 gr ou mais, diriamente.
difcil determinar qual a quantidade de consumo dirio de etanol considerada segu-
ra. Muitos autores sugerem um consumo inferior a 80 gr no homem, e de 40 gr na
mulher. Outros so mais restritivos, designadamente o grupo do Kings College, em
Londres, que sugere que no devem ser excedidos os limites de 21 U/semana no
homem, e de 14 U/semana na mulher, considerando 1 U = 10 gr de etanol puro
2. FACTORES DE RISCO DA DHA
lcool.
A quantidade de etanol consumido o mais importante factor de risco no desenvol-
vimento da DHA. Existe uma correlaco significativa entre o consumo per capita e a
prevalncia da cirrose heptica. Dados epidemiolgicos evidenciaram uma marcada
diminuio de prevalncia da DHA em perodos de racionamento (guerra), de proibi-
o no consumo de lcool e de aumento do seu custo.
FGADO - Doena Hpatica Alcolica
511
Sexo.
A mulher desenvolve formas mais severas e mais precoces de DHA, relativamente ao
homem, com consumos dirios menores. Desconhece-se a razo desta maior suscep-
tibilidade no sexo feminino: diferenas na composio do organismo? Menor peso cor-
poral? Maior propenso para mecanismos de auto-imunidade na mulher? Diferenas
de sexo no tocante ao metabolismo do lcool? Menor produo de desidrogenase
alcolica na mucosa gstrica da mulher?
M nutrio.
Os hbitos dietticos e o estado nutricional podem tambm constituir importantes fac-
tores de risco. A obesidade e o elevado consumo de gorduras seriam mais importan-
tes do que a ingesto calrica de protenas.
Gentica.
Desempenha um papel no alcoolismo e no consumo de lcool. Alm disso, h evidn-
cia de uma predisposio gentica no desenvolvimento da DHA. A maioria dos estu-
dos, neste campo, tem sido focado nos principais sistemas enzimticos hepticos
envolvidos no metabolismo do lcool: desidrogenase alcolica (ADH), desidrogenase
do acetaldedo (ALDH) e citocromo P-450. Alguns estudos suportam um incremento
na frequncia do gene ADH 321 que codifica a isoenzima gama-1ADH em doentes com
cirrose alcolica, anomalia que, combinada com alteraes do apelo ALDH 2-2, indu-
ziria a diminuio da capacidade de metabolizao do acetaldedo. Outros trabalhos,
oriundos do Japo, evidenciam uma maior incidncia de ADH 2-1, e maior frequncia
de ALDH 2-1 em doentes alcolicos, em comparao com um grupo controlo. Ainda
outras investigaes indicaram anomalias e polimorfismos no P4502E1 em doentes
com DHA.
Infeco viral.
Existe uma forte associao entre a doena heptica alcolica e a hepatite por vrus
C. ao contrrio da infeco por vrus B, a infeco por VHC parece estar envolvida no
desenvolvimento da DHA avanada. A prevalncia do VHC em doentes com DHA de
25-65% pelo mtodos ELISA, de 14-79% pelos ensaios imunoblot, e de 10-40% utili-
zando a deteco do ARN-VHC. Comparando os doentes com DHA sem infeco C, com
os doentes DHA infectados, verifica-se que estes apresentam quadros histolgicos
mais severos, desenvolvem a doena em fase mais precoce e apresentam uma sobre-
Doenas do Aparelho Digestivo
512
vida mais reduzida. Alm disso, a presena de VHC o factor de maior risco no desen-
volvimento do hepatocarcinoma, em doentes com doena heptica alcolica.
3. PATOFISIOLOGIA
A patofisiologia da doena heptica alcolica (DHA) desconhecida os potenciais
mecanismos de hepatoxicidade incluem a m nutrio, a agresso txica directa pelo
lcool, o desenvolvimento de um estado hipermetablico e a imuno-reactividade.
M nutrio.
um dos mecanismos h mais tempo sugeridos. No entanto, a cirrose alcolica pode
desenvolver-se na ausncia de m nutrio, e alcolicos com leses hepticas discre-
tas evidenciam muitas vezes graus severos de desnutrio. de sublinhar, como j
foi acentuado, que a obesidade e o elevado consumo de gordura constituem impor-
tante factor de risco. A ingesto prolongada de etanol associa-se a um balano azo-
tado negativo, e a um aumento das necessidades dirias de colina, tiamina, folato e
outros nutrientes. A deficincia em vitamina A tambm tem sido implicada na patofi-
siologia da DH.
Toxicidade directa do lcool.
Trs sistemas enzimticos contribuem para o metabolismo heptico do etanol: a desi-
drogenase do lcool no citosol, o sistema microsnico heptico no retculo endopls-
mico e a catalase nos peroxisomas. A oxidao do lcool processa-se sobretudo
mediante a interveno do primeiro sistema, com formao de acetaldedo, molcula
altamente reactiva com mltiplos efeitos in vivo: hiperlactacidmia, hiperuricmia,
hiperlipidmia e peroxidao lipdica. Pela aco da desidrogenase do aldedo, este
secundriamente metabolizado em acetato. Estas reaces enzimticas, ao reduzirem
o NAD em NADH, diminuem a oxidao dos cidos gordos, aumentam a formao de
triglicerdeos e favorecem o desenvolvimento de esteatose. Propem alguns autores
a existncia de polimorfismos das desidrogenases referidas, que determinariam um
incremento na formao do acetaldedo ou reduzida clearance desta molcula, com
consequncias delatrias para o tecido heptico.
O sistema microsnico heptico actuaria sobretudo em indivduos com consumo exa-
gerado e sustentado de etanol, ou na vigncia de taxas elevadas de alcoolmia. Esse
sistema, cuja enzima chave o citocromo P-4502E1 (CYP 2E1), oxida o etanol em ace-
taldedo e gua, e um potente gerador de radicais livres de oxignio. Este ltimo
evento, associado a uma reduo da sntese do glutatio pelo efeito do lcool, induz
FGADO - Doena Hpatica Alcolica
513
a inactivao de enzimas e a preoxidao lipdica, considerada por alguns grupos a
etapa inicial nas leses hepticas da DHA. Por outro lado, tem sido recentemente
reportado que o acetaldedo ode ligar-se a fraces proteicas, com formao de aduc-
tos de protena-acetaldedo, que interfeririam com actividades enzimticas especficas,
com processos intracelulares e com a integridade das membranas dos hepatcitos.
Estado hipermetablico.
A ingesto crnica de etanol induz o consumo aumentado de oxignio pelo fgado.
Esta situao hipermetablica pode conduzir a hiprxia absoluta ou relativa devido a
diminuio do gradiente de oxignio ao longo dos capilares sinusoidais. Dado que a
regio centrolobular (zona 3), onde preponderantemente metabolizado o etanol,
relativamente hiprxica em comparao com as reas periportais, com declnio na dis-
ponibilidade de oxignio pode determinar leses na zona 3 nos indivduos alcolicos.
Mecanismo imunitrio.
Tem sido proposto este mecanismo na patofisiologia da H por vrios motivos: pro-
gresso da doena inicial apesar da absteno alcolica, ocorrncia de um quadro his-
tolgico semelhante ao da hepatite crnica, associao a hipergamaglobulinmia,
deteco de imunocomlexos circulantes e de auto-anticorpos anti-DNA, no especifi-
cos do rgo. No entanto, admite-se como mais provvel a ocorrncia de imunidade
celular, e menos a imunidade humoral, designadamente pela deteco de reactivida-
de dos linfcitos perifricos ao tecido hepico antlogo, pela presena de hialina
alcolica, e da interleucinas em circulao nos doentes com hepatite alcolica.
No est esclarecido se os mecanismos imunolgicos iniciam a agresso heptica, ou
resultam da leso hepatocitria. Seja como for, pensa-se que desempenham um papel
nas manifestaes e sequelas da hepatite alcolica e da cirrose. Metabolitos do leu-
cotrieno B4 e o factor quimiotctil podem aumentar a infiltrao leucocitria nas zonas
centrolobulares. A secreo da interleucina G pode incrementar a produo de gama-
globulina. O factor de necrose tumoral (TNF-a) pode induzir febre, e a reduo de
secreo da interleucina 2 ode amortecera imunidade celular na cirrose heptica.
Doenas do Aparelho Digestivo
514
4. HISTOPATOLOGIA
O espectro histopatolgico da doena heptica alcolica inclui o fgado gordo (esea-
tose hepatocelular), a hepatite alcolica (esteatonecrose alcolica) e a cirrose.
Adicionalmente, podem ser detectadas na DHA outras leses: hipogranulomas, fibro-
se perivenular, colestase, hepatite crnica, doena veno-oclusiva e carcinoma hepato-
celular.
Esteatose heptica.
A alterao histopatolgica mais comum na DHA a acumulao macrovesicular de
gordura, usualmente dentro dos hepatcitos. A esteatose pode desenvolver-se poucos
dias aps a ingesto de etanol, envolvendo tipicamente as zonas acinares 2 e 3,
embora nalguns casos se observe uma infiltrao gorda difusa. Os hepatcitos esto
aumentados pelas gotas adiposas, e os ncleos encontram-se deslocados. Estas alte-
raes de esteatose podem ser observadas em doenas no alcolicas, designada-
mente na obesidade, na desnutrio e na diabetes mellitus. A esteatose microvesicu-
lar dos hepatcitos tipidamente centrolobular (perivesicular), e associa-se a coles-
tase e fibrose peri-venular. Pode coexistir com esteatose macrovescular. Estas altera-
oes esteatsicas motivadas pelo lcool so reversveis com a abstinncia.
Hepatite alcolica.
Em 15-20% dos alcolicos crnicos pode desenvolver-se um quadro histopatolgico
de hepatite alcolica, considerada a leso precursora mais comum da cirrose hepti-
ca. caracterizada por necrose hepatocitria, infiltrao por polimorfonucleares e fre-
quentemente presena de hialina alcolica (corpos de Mallory) na zona acinar 3 (cen-
trolobular). Outras caractersticas histopatolgicas podem ser identificadas: baloniza-
o dos hepatcitos corpos apoptsicos, oncocitos (hepatcitos carregados de mito-
cndrias), fibrose perivenular e pericelular, proliferao das clulas de Kupffer, infla-
mao portal e megamitocndrias. Podem ainda ocorrer fenmenos de colangiolite e
colestase centrolobular.
Embora a hialina de Mallory (material fibrilhar eosinoflico resultante da formao de
adutos de acetaldedo-tubulina) se encontre frequentemente presente, tambm pode
ser detectada noutras hepatopatias, designadamente na colangite esclerosante, na
doena de Wilson, na hepatite auto-imune, na cirrose biliar primria e no carcinoma
hepatocelular. Existem trs tios ultraestruturais de hialina de Mallory. O tipo II o mais
frequentemente observado na hepatite alcolica. A fibrose perivenular e a ocluso das
vnulas hepticas terminais podem acompanhar a hepatite alcolica e induzir hiper-
tenso portal na ausncia de cirrose. Tambm pode ocorrer fibrose pericelular, com
FGADO - Doena Hpatica Alcolica
515
transformao das clulas estreladas quiescentes (clulas de ITO, lipcitos) em miofi-
broblastos produtores de colagnio. Cerca de 50% dos doentes com hepatite alcoli-
ca tm cirrose na apresentao clnica.
Cirrose alcolica.
A leso de cirrose desenvolve-se em cerca de 20% dos alcolicos crnicos. caracte-
rizada pela progresso de septos fibrosos de zonas perivenulares para reas peripor-
tais, em associao com um processo regenerativo que culmina na formao de
pequenos ndulos de hepatcitos circundados por tecido fibroso. Esta cirrose micro-
nodular apresenta tipicamente ndulos com 1-3 mm de dimetro. Com a abstinncia
alcolica, podem desenvolver-se macrondulos, surgindo uma cirrose nodular mista,
ou eventualmente francamente macronodular.
A ingesto continuada de lcool impede a regenerao e pode induzir inflamao per-
sistente e esteatose hepatocitria. Pode ainda detectar-se acumulao de cobre e ferro
nos hepatcitos, assim como glbulos de a-1-antitripsina. A coexistncia de infeco
por vrus C pode tambm induzir sobrecarga de ferro.
O carcinoma hepatocelular desenvolve-se em 5-10% dos doentes abstinentes com cir-
rose alcolica. Parece correlacionar-se com a transformao das formas micronodula-
res para as formas macronodulares de cirrose, e desenvolve-se, em mdia, 4-5 anos
aps o diagnstico de cirrose.
5. DIAGNSTICO
O diagnostico da doena heptica alcolica (DHA) efectuado frequentemente no con-
texto de uma histria de ingesto significativa de lcool, sinais fsicos de doena
heptica e exames laboratoriais de suporte. elevada a percentagem dos que negam
abuso de bebidas alcolicas. Por outro lado, os sinais fsicos e a evidncia laborato-
rial de DHA podem no existir ou so inespecficos, sobretudo em doentes com DHA
discreta ou cirrose inicial. Por isso, o clnico pode ter necessidade de se socorrer de
evidncias indirectas de abuso de lcool por ex. questionrios, informao de mem-
bros da famlia, testes laboratoriais no hepticos -, para sustentar um diagnstico
preventivo de DHA.
A CRITRIOS PARA O DIAGNSTICO DE DEPENDNCIA OU ABUSO DE LCOOL
Dependncia (trs dos seguintes items so requeridos):
Bebidas alcolicas ingeridas frequentemente em consumos elevados ou durante
um perodo superior ao pretendido.
Doenas do Aparelho Digestivo
516
Desejo persistente de ingesto de lcool ou uma ou mais tentativas de desintoxi-
cao no sucedidas.
Largos perodos de tempo dispendidos na obteno de lcool, na sua ingesto ou
na recuperao dos efeitos.
Ingesto recorrente em momentos em que o lcool perigoso (por ex. conduzir
embriagado), ou frequente intoxicao apesar de compromissos relacionados com
trabalho, escola ou actividades domsticas.
Actividades sociais, ocupacionais ou recreativas suspensas ou reduzidas por inges-
to de lcool.
Persistente consumo de lcool apesar da ocorrncia de problemas fisicos, sociais
ou psicolgicos recorrentes.
Marcada tolerncia: necessidade de aumentar a quantidade de lcool (pelo menos
50% de aumento), para obter o estado de intoxicao ou o efeito desejado, ou
efeito acentuadamente diminudo com a continuao da ingesto da mesma quan-
tidade de etanol.
Sintomas caractersticos de privao.
Ingesto de lcool para aliviar ou evitar os sintomas de privao.
Abuso de lcool (um item requerido):
Ingesto continuada apesar do reconhecimento de problemas fsicos, psicolgicos,
sociais ou profissionais persistentes ou recorrentes, causados ou exacerbados pelo
consumo de lcool.
Ingesto recorrente em situaes onde o seu consumo fisicamente perigoso.
B AVALIAO DO CONSUMO DE ETANOL
Se os critrios indicados podem facultar ao clnico uma informao sobre o diagnsti-
co de alcoolismo ou de abuso de lcool, muitas vezes difcil ou impossvel quantifi-
car o consumo de etanol por dia. A quantidade de lcool ingerido exprime-se em gra-
mas de lcool por dia, ou em gramas por dia e por quilograma de peso. Relativamente
s bebidas mais consumidas em Portugal podem calcular a quantidade de etanol inge-
rido por dia utilizando a seguinte metodologia e considerando que um grau = 0.8 gr:
Vinho maduro 12 graus = 9.6 gr/100 ml
Vinho verde 10 graus = 8 gr/100 ml
Aguardentes de 50-70 graus = 40-56 gr/100 ml
Whisky de 40 graus = 32 gr/100 ml
Cerveja de 7 graus = 5,6 gr/100 ml
O laboratrio pode facultar algumas indicaes relativamente ao consumo de lcool.
O doseamento do etanol no ar expirado, no sangue, na urina ou na saliva, so tem
interesse no contexto de uma ingesto recente.
FGADO - Doena Hpatica Alcolica
517
Na avaliao da ingesto crnica recorre-se usualmente a outros estudos, designada-
mente determinao do volume globular mdio e da gama-glutamil transferase, com
limitaes na sensibilidade e na especificidade.
Perfila-se actualmente, como mtodo promissor, o doseamento da transferrina huma-
na deficiente em hidratos de carbono. A sensibilidade de 60-90%, e a especificida-
de ultrapassa os 95%.
C AVALIAO CLNICA
Os doentes com doena heptica alcolica apresentam tipicamente sintomas no
especficos incluindo dor abdominal no hipocndrio direito, febre, nuseas, vmitos,
diarreia, anorexia e mal estar, por vezes com sintomas especficos causados por com-
plicaes da hipertenso portal, designadamente ascite, edemas perifricos, confuso
mental e hemorragia gastrointestinal.
ESTEATOSE HEPTICA
O doente pode no apresentar sintomas, mas a hepatomeglia um achado constan-
te.
Em casos raros pode ocorrer esteatose microvesicular, surgindo um quadro de ence-
falopatia heptica, colestase, ictercia e hipertenso portal. Nos casos no complica-
dos, a abstinncia alcolica conduz normalizao do processo.
A esteatose heptica, em situaes muito raras, pode associar-se a morte sbita, apa-
rentemente consequncia de lipoembolia pulmonar, hipoglicmia ou privao alcoli-
ca.
HEPATITE ALCOLICA
Os doentes com hepatite alcolica aguda apresentam, na forma tpica, ictercia, dor
no hipocndrio direito, febre e insuficincia heptica. Em certos casos no ocorrem
sintomas.
Nos doentes com dor abdominal, ictercia e febre, pode haver confuso clnica com a
colecistite aguda. imperioso distinguir as duas situaes, dada a elevada mortalida-
de per-operatria de doentes com hepatite alcolica.
No exame fsico, detecta-se hepatomeglia dolorosa, ictercia e pode auscultar-se um
sopro arterial sobre o fgado. Podem ainda observar-se quadros de m nutrio, hiper-
trofia das partidas, aranhas vasculares e atrofia testicular. A febre usualmente
moderada.
Doenas do Aparelho Digestivo
518
Os doentes com hepatite alcolica aguda podem evidenciar, na altura da apresenta-
o clnica, a coexistncia de cirrose heptica, em percentagens que chegam a atingir
os 50%. A maioria dos restantes acabam por desenvolver cirrose heptica, mesmo
com abstinncia alcolica.
Podem surgir sinais de hipertenso portal, mesmo na ausncia de cirrose, devido a
inflamao e fibrose perivenular, ou a doena veno-oclusiva das vnulas hepticas ter-
minais.
O prognstico da hepatite alcolica depende parcialmente da severidade do proces-
so e pode ser estimado utilizando o index de Maddrey, designado de funo discrimi-
nante (FD), que se calcula da seguinte forma:
FD = (4.6 x aumento de temo de protrombina em segundos) + bilirrubinmia mgr/dl.
Se FD>32, ocorre um aumento de cerca de 50% na mortalidade hospitalar. Nestas
situaes prope-se a corticoterpia (prednisolona na dose de 40-60 mg por dia)
com reduo progressiva de acordo com a evoluo clnica e laboratorial.
CIRROSE ALCOLICA
Os doentes com cirrose alcolica podem apresentar-se bem compensados, ou eviden-
ciar sintomas e sinais de hipertenso portal, incluindo ascite, edema perifrico, icte-
rcia progressiva, confuso e hemorragia por varizes esofgicas ou gstricas.
No exame fsico podemos detectar hepatomeglia, ascite, edema, achados dermovas-
culares de eritema palmar, aranhas vasculares, desnutrio, hipertrofia das partidas,
atrofia testicular, colaterais periumbilicais (caput medusa) e contracturas de
Dupuytren.
Outros dados fsicos incluem unhas esbranquiadas, relacionadas com a hipoalbumi-
nmia, perda de pilosidade nas axilas e tronco e distribuio feminina da pilosidade
pbica. Observa-se por vezes um estado hiperdinmico cardiovascular com aumento
do dbito cardaco. No leito vascular pulmonar podem ocorrer shunts direito-esquer-
dos, originando cianose. Esta sindrome hepato-pulmonar pode associar-se a reduzida
saturao de oxignio e dispneia, que melhora com o doente em supinao.
O doente pode apresentar quadros de encefalopatia, desde o grau I ao grau IV e alte-
raes neurolgicas de que o sinal mais conspcuo o asterixis.
Outras complicaes da cirrose heptica podem ocorrer, nomeadamente rotura de vari-
zes esofgicas ou gstricas, e sindrome hepatorenal, que sero tratadas num captu-
lo especial.
FGADO - Doena Hpatica Alcolica
519
D AVALIAO LABORATORIAL, IMAGIOLGICA E HISTOLGICA
J foi atrs sublinhado o interesse da determinao do volume corpuscular mio e da
GT, bem como da transferrina humana deficiente em hidratos de carbono.
Hematologia.
Uma anemia coexistente pode ser consequncia de deficincia em ferro por hemorra-
gia ou deficincia em folato. Pode ocorrer hemlise por hiperlipidmia. A
trombocitopenia pode ser consequncia directa do etanol ou secundria a hiperesple-
nismo, que tambm pode induzir leucopenia. Em 50% dos doentes podemos encon-
trar leucocitose, com valores de 12.000 a 14.000/mm
3
, e raramente quadros leucemi-
des. A hipoprotrombinmia, se presente, resultante de doena heptica severa ou
de deficincia em vit. K.
Testes no soro.
As provas hepticas convencionais podem apresentar-se normais. Na DHA comum
encontrar-se uma elevao preferencial da TGO relativamente TGP (2 a 3 vezes mais
elevada). Se essa relao reverte com a abstinncia, mais provvel que exista um
quadro de esteatose heptica. Se a relao TGO/TGP inferior a 2, devem ser suspei-
tadas outras etiologias na hepatopatia do alcolico.
A hiperbilirrubinmia no comum na esteatose heptica, excepto em situaes de
esteatose microvesicular. A elevao da bilirrubinmia total acima de 5 mgr/dl, asso-
cia-se a aumento da mortalidade.
A reduo da albumina srica e a elevao do tempo de protrombina indicam usual-
mente doena avanada, quer na hepatite alcolica ou na cirrose heptica.
A hipergamaglobulinmia comum nos estdios avanados da DHA, com elevao na
IgG e IgA. Podem detectar-se auto-anticorpos no especficos do orgo, em baixos
ttulos. Cerca de 10-15% dos doentes com DHA so anti-VHC positivos.
A presena de bilirrubinmia superior a 5 mgr/dl, associada a elevao do tempo de
protrombina e do azoto ureico, e a baixa da albuminmia, indiciam mau prognstico
no doente com hepatite alcolica.
Imagiologia.
O estudo imagiolgico mais til a ultra-nosografia (US). Pode evidenciar sinais de
esteatose, aumento da densidade heptica por fibrose, lobulao na cirrose, espleno-
meglia e ascite. A litase biliar aumenta nas doenas hepticas avanadas, inclusiv
na DHA. A US tambm til para eliminar a hiptese de obstruo biliar, e associada
ao Doppler possibilita estudar a patncia das veias porta e hepticas, e a direco do
fluxo portal. A coexistncia de um hepatocarcinoma tambm pode ser evidenciado
pela US.
Doenas do Aparelho Digestivo
520
A tomografia computorizada (TAC) til no diagnstico de tumores, cirrose, ascite de
doena pancretica. A ressonncia magntica (RM) est indicada na suspeita de hemo-
cromatose, de sobrecarga de ferro no tecido heptico e de tumores hepticos a veno-
grafia heptica utiliza-se na vigncia da sndrome de Budd-Chiari, e no estudo da pres-
so venosa supra-heptica.
Bipsia heptica.
o nico mtodo de avaliar as leses histolgicas presentes. Tem sobretudo interes-
se, na prtica clnica, como indicador de prognstico, na medida em que faculta infor-
mao sobre a reversibilidade ou irreversibilidade do quadro lesional. Apesar de algu-
mas limitaes, um exame complementar de grande valimento, designadamente em
doentes abstmios e em que subsistem alteraes laboratoriais ou ecogrficas.
6. TERAPUTICA E PROGNSTICO
A absteno alcolica a teraputica mais importante nos doentes com DHA, na
medida em que melhora a sobrevida em todos eles.
A esteatose heptica no complicada reverte totalmente com a abstinncia alcolica,
em cerca de 30 a 45 dias. A esteatose microvesicular pode associar-se a colestase
severa e insuficincia heptica. Esto indicados o suporte e controlo das complicaes
relacionadas com eventual encefalopatia heptica, a administrao de suplementos
enterais e a correco do tempo de protrombina com vit. K.
Os doentes com hepatite alcolica requerem frequentemente cuidados urgentes, com
hospitalizao. A suplementao calrica por via enteral ou parenteral parece melho-
rar a sobrevida. A correco de deficincias vitamnicas importante. A coexistncia
de infeco pelo VHC pode determinar tratamento com interfero-a. Este deve admi-
nistrar-se somente aps cessao da ingesto de lcool.
A teraputica farmacolgica da hepatite alcolica continua a ser objecto de debate. O
propiltiouracilo, a colchicina, a S-adenil-L-metionina, os esterides anabolizantes e os
corticides tm sido extensamente avaliados, no existindo ainda dados suficientes
para uma afirmao categrica sobre os seus eventuais beneficios. A corticoterpia
surge como a atitude teraputica mais promissora. Vrios autores recomendam a sua
utilizao sobretudo em formas severas da hepatite alcolica, definidas atravs do
ndice de Maddrey.
Em doentes com cirrose alcolica, os estudos farmacolgicos so mais limitados. A
teraputica com colchicina tem sido estudada, no intuito de reverter o processo fibr-
tico. Os resultados at agora registados so promissores.
FGADO - Doena Hpatica Alcolica
521
A transplantao heptica tem sido crescentemente utilizada nos doentes com cirrose
heptica alcolica, salvaguardando algumas condies: abstinncia alcolica durante
um perodo no inferior a seis meses, garantia de suporte familiar e social, inexistn-
cia de outras toxicodependncias ou problemas psiquitricos.
A sobrevivncia dos doentes e dos enxertos muito boa, comparada observada nos
doentes transplantados por outras causas. Estima-se em cerca de 10-15% dos trans-
plantados a recada na ingesto de lcool no fim do primeiro ano, percentagem que
sobe nos anos seguintes.
O prognstico da DHA depende de vrios factores: absteno total de ingesto de eta-
nol, sexo do doente (maior gravidade na mulher), tipo e severidade das leses histo-
lgicas existentes. Enquanto que a esteatose totalmente reversvel, a hepatite alco-
lica pode evoluir para a cirrose mesmo em indivduos abstinentes. No tocante cir-
rose alcolica, a classificao de Child-Turcotte continua a revelar-se til na definio
do prognstico, no inferior a mltiplos modelos que tm sido propostos.
Doenas do Aparelho Digestivo
522
FGADO - Doena Hpatica Alcolica
523
REFERNCIAS
McCullough AJ. Alcoholic liver disease. In: Shiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC. Schiffs Diseases of the Liver (8
th
Ed.).
Lippincott-Raven; 1999: 941-972.
Olivera-Martinez MA, Zetterman RK. Alcoholic liver disease. In: Bacon BR, Di Bisceglie AM, eds. Liver Disease.
Diagnosis and Management. Churchill Livingstone; 2000: 119-126.
Mathurin P, Poynard T. Alcoholic liver disease: screening and treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B, eds.
Evidence Based Gastroenterology & Hepatology. BMJ Books; 1999: 322-332.
Sofia CMR. O alcoolismo: viso do problema, no homem e na sociedade. Tese de Doutoramento. Coimbra, 1988.
Mendenhall CL. Treatment of alcoholic liver disease. In: Wolfe MM, ed. Therapy of Digestive Disorders. W.B.Saunders Co., 2000: 323-333.
Objectifs, indications et modalits du sevrage du patient alcoolodpendant. Confrence de consensus.
Gastroenterol Clin Biol; 1999, 23: 852-864.
French SW. Rationale for therapy for alcoholic liver disease. Gastroenterology; 1995, 109(2): 617-620.
Ermelinda Camilo M. Nutrio em alcoolismo e doenas hepticas crnicas. Tese de Doutoramento. Lisboa, 1985.
Adams PC. Iron overload in viral and alcoholic liver disease. J Hepatology; 1998, 28: 19-20.
Lieber CS. Alcohol and the liver: 1994 update. Gastroenterology; 1994, 106: 1085-1105.
Sofia C, Pina Cabral JE, Freitas D. lcool e nutrio. GE J Port Gastroenterol; 1997, 4(2): 90-101.
Cravo M, Glria L, Camilo ME, et al. Deficincias vitamnicas nos alcolicos crnicos: consequncias metablicas e implicaes clnicas. GE
J Port Gastroenterol; 1995, 2(3): 74-79.
Sofia C, Freitas D, Gouveia Monteiro J. Alcolicos assintomticos: avaliao da repercusso do lcool na estrutura do parnquima heptico.
GE J Port Gastroenterol; 1995, 2(3): 80-86.
Peneda J, Baptista A, Fonseca A, et al. lcool, nutrio e efeitos organo-metablicos. Evoluo crnica experimental sob consumo moderado
de etanol e congneres. GE J Port Gastroenterol; 1996, 3: 222-239.
Lieber CS. Alcoholic liver disease. In: Friedman G, Jacobson ED, McCallum R, eds. Gastrointestinal Pharmacology & Therapeutics.
Lippincott-Raven; 1997: 465-488.
Carvalho A. lcool e vrus das hepatites. In: Armando Porto, ed. lcool e aparelho digestivo. Permanyer Portugal; 2000: 61-77.
Alves PS, Pinto Correia J, Borda A, et al. Doena heptica alcolica em Portugal. Quadro clnico e laboratorial, mortalidade e sobrevivncia.
Rev Port Clin e Terap; 1982, 7: 5-12.
Gouveia Monteiro J, Sofia C. Valor da clnica na hepatopatia alcolica. Coimbra Mdica; 1980, 1: 389-393.
Sofia C. Hepatite aguda alcolica: aspectos patognicos e importncia clnica. Arquivos Hepato-Gastrenterolgicos Portugueses; 1993, 2: 7-14.
Perdigoto R. Doena heptica alcolica e transplantao heptica. In: Armando Porto, ed. lcool e aparelho digestivo.
Permanyer Portugal; 2000: 147-154.
Bellamy CO, DiMartini AM, Ruppert K, Jain A, Dodson F, Torbenson M, Starzl TE, Fung JJ, Demetris AJ. Liver transplantation for alcoholic
cirrhosis: long term follow-up and impact of disease recurrence. Transplantation. 2001 Aug 27;72(4):619-26.
Ropero Gradilla P, Villegas Martinez A, Fernandez Arquero M, Garcia-Agundez JA, Gonzalez Fernandez FA, Benitez Rodriguez J, Diaz-Rubio
M, de la Concha EG, Ladero Quesada JM. C282Y and H63D mutations of HFE gene in patients with advanced alcoholic liver disease.
Rev Esp Enferm Dig. 2001 Mar;93(3):156-63.
Singh P, Scoyni R, Visvalingam V, Singhal P, Bank S. Bacterial infection in cirrhotic patients and its relationship with alcohol.
Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1645-6.
DiMartini A, Weinrieb R, Lane T, Day N, Fung J. Defining the alcoholic liver transplant population: implications for future research.
Liver Transpl. 2001 May;7(5):428-31.
Rambaldi A, Gluud C. Colchicine for alcoholic and non-alcoholic liver fibrosis or cirrhosis. Liver. 2001 Apr;21(2):129-36.
Day CP. Apoptosis in alcoholic hepatitis: a novel therapeutic target? J Hepatol. 2001 Feb;34(2):330-3.
Ziol M, Tepper M, Lohez M, Arcangeli G, Ganne N, Christidis C, Trinchet JC, Beaugrand M, Guillet JG, Guettier C. Clinical and biological
relevance of hepatocyte apoptosis in alcoholic hepatitis. J Hepatol. 2001 Feb;34(2):254-60.
Natori S, Rust C, Stadheim LM, Srinivasan A, Burgart LJ, Gores GJ. Hepatocyte apoptosis is a pathologic feature of human alcoholic hepatitis.
J Hepatol. 2001 Feb;34(2):248-53.
Urbaschek R, McCuskey RS, Rudi V, Becker KP, Stickel F, Urbaschek B, Seitz HK. Endotoxin, endotoxin-neutralizing-capacity, sCD14,
sICAM-1, and cytokines in patients with various degrees of alcoholic liver disease. Alcohol Clin Exp Res. 2001 Feb;25(2):261-8.
Foody W, Heuman DD, Mihas AA, Schubert ML. Nutritional therapy for alcoholic hepatitis: new life for an old idea.
Gastroenterology. 2001 Mar;120(4):1053-4.
Hagymasi K, Blazovics A, Lengyel G, Kocsis I, Feher J. Oxidative damage in alcoholic liver disease.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Jan;13(1):49-53.
Homann C, Benfield TL, Graudal NA, Garred P. Neopterin and interleukin-8prognosis in alcohol-induced cirrhosis. Liver. 2000 Dec;20(6):442-9.
Morgan TR, McClain CJ. Pentoxifylline and alcoholic hepatitis. Gastroenterology. 2000 Dec;119(6):1787-91.
Akriviadis E, Botla R, Briggs W, Han S, Reynolds T, Shakil O. Pentoxifylline improves short-term survival in severe acute alcoholic hepatitis:
a double-blind, placebo-controlled trial. Gastroenterology. 2000 Dec;119(6):1637-48.
Ljubicic N, Spajic D, Vrkljan MM, Altabas V, Doko M, Zovak M, Gacina P, Mihatov S. The value of ascitic fluid polymorphonuclear cell count
determination during therapy of spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis. Hepatogastroenterology. 2000 Sep-
Oct;47(35):1360-3.
Tilg H, Diehl AM. Cytokines in alcoholic and nonalcoholic steatohepatitis. N Engl J Med. 2000 Nov 16;343(20):1467-76.
Duhamel C, Mauillon J, Berkelmans I, Bourienne A, Tranvouez JL. Hepatorenal syndrome in cirrhotic patients: terlipressine is a safe and
efficient treatment; propranolol and digitalic treatments: precipitating and preventing factors? Am J Gastroenterol. 2000 Oct;95(10):2984-5.
Chao YC, Wang LS, Hsieh TY, Chu CW, Chang FY, Chu HC. Chinese alcoholic patients with esophageal cancer are genetically different from
alcoholics with acute pancreatitis and liver cirrhosis. Am J Gastroenterol. 2000 Oct;95(10):2958-64.
Tran A, Benzaken S, Saint-Paul MC, Guzman-Granier E, Hastier P, Pradier C, Barjoan EM, Demuth N, Longo F, Rampal P. Chondrex (YKL-40),
a potential new serum fibrosis marker in patients with alcoholic liver disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Sep;12(9):989-93.
Rambaldi A, Gluud C. Colchicine for alcoholic and non-alcoholic liver fibrosis and cirrhosis. Liver. 2000 Jun;20(3):262-6.
McMaster P. Transplantation for alcoholic liver disease in an era of organ shortage. Lancet. 2000 Feb 5;355(9202):424-5.
Takamatsu M, Yamauchi M, Maezawa Y, Saito S, Maeyama S, Uchikoshi T. Genetic polymorphisms of interleukin-1beta in association with
the development of alcoholic liver disease in Japanese patients. Am J Gastroenterol. 2000 May;95(5):1305-11.
Rosa H, Silverio AO, Perini RF, Arruda CB. Bacterial infection in cirrhotic patients and its relationship with alcohol.
Am J Gastroenterol. 2000 May;95(5):1290-3.
Szabo G. New insights into the the molecular mechanisms of alcoholic hepatitis: a potential role for NF-kappaB activation?
J Lab Clin Med. 2000 May;135(5):367-9.
French SW. Mechanisms of alcoholic liver injury. Can J Gastroenterol. 2000 Apr;14(4):327-32.
Denk H, Stumptner C, Zatloukal K. Mallory bodies revisited. J Hepatol. 2000 Apr;32(4):689-702.
Taieb J, Mathurin P, Elbim C, Cluzel P, Arce-Vicioso M, Bernard B, Opolon P, Gougerot-Pocidalo MA, Poynard T, Chollet-Martin S. Blood
neutrophil functions and cytokine release in severe alcoholic hepatitis: effect of corticosteroids. J Hepatol. 2000 Apr;32(4):579-86.
Walsh K, Alexander G. Alcoholic liver disease. Postgrad Med J. 2000 May;76(895):280-6.
George DK, Powell LW. HFE and alcoholic liver disease. Gut. 1999 Mar;44(3):439-40.
Okazaki I, Watanabe T, Hozawa S, Arai M, Maruyama K. Molecular mechanism of the reversibility of hepatic fibrosis: with special reference
to the role of matrix metalloproteinases. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Mar;15 Suppl:D26-32.
Castera L, Hartmann DJ, Chapel F, Guettier C, Mall F, Lons T, Richardet JP, Grimbert S, Morassi O, Beaugrand M, Trinchet JC. Serum laminin
and type IV collagen are accurate markers of histologically severe alcoholic hepatitis in patients with cirrhosis.
J Hepatol. 2000 Mar;32(3):412-8.
Rolla R, Vay D, Mottaran E, Parodi M, Traverso N, Arico S, Sartori M, Bellomo G, Klassen LW, Thiele GM, Tuma DJ, Albano E. Detection of
circulating antibodies against malondialdehyde-acetaldehyde adducts in patients with alcohol-induced liver disease.
Hepatology. 2000 Apr;31(4):878-84.
Lieber CS. Alcoholic liver disease: new insights in pathogenesis lead to new treatments. J Hepatol. 2000;32(1 Suppl):113-28.
Gough SC. Think cytokines before you drink. Gut. 2000 Apr;46(4):448-9.
Ganne-Carrie N, Christidis C, Chastang C, Ziol M, Chapel F, Imbert-Bismut F, Trinchet JC, Guettier C, Beaugrand M. Liver iron is predictive of
death in alcoholic cirrhosis: a multivariate study of 229 consecutive patients with alcoholic and/or hepatitis C virus cirrhosis: a prospective
follow up study. Gut. 2000 Feb;46(2):277-82.
Cameron RG, Neuman MG. Novel morphologic findings in alcoholic liver disease. Clin Biochem. 1999 Oct;32(7):579-84.
Schenker S, Hoyumpa AM. New concepts of dietary intervention in alcoholic liver disease. J Lab Clin Med. 1999 Nov;134(5):433-6.
Dhar S, Omran L, Bacon BR, Solomon H, Di Bisceglie AM. Liver transplantation in patients with chronic hepatitis C and alcoholism.
Dig Dis Sci. 1999 Oct;44(10):2003-7.
Imperiale TF, OConnor JB, McCullough AJ. Corticosteroids are effective in patients with severe alcoholic hepatitis.
Am J Gastroenterol. 1999 Oct;94(10):3066-8.
Christensen E, Gluud C. Glucocorticosteroids are not effective in alcoholic hepatitis. Am J Gastroenterol. 1999 Oct;94(10):3065-6.
Roizen R, Kerr WC, Fillmore KM. Cirrhosis mortality and per capita consumption of distilled spirits, United States, 1949-94: trend analysis
BMJ. 1999 Sep 11;319(7211):666-70.
Pageaux GP, Michel J, Coste V, Perney P, Possoz P, Perrigault PF, Navarro F, Fabre JM, Domergue J, Blanc P, Larrey D. Alcoholic cirrhosis is
a good indication for liver transplantation, even for cases of recidivism. Gut. 1999 Sep;45(3):421-6.
233:Li CP, Lee FY, Hwang SJ, Chang FY, Lin HC, Lu RH, Hou MC, Chu CJ, Chan CC, Luo JC, Lee SD. Spider angiomas in patients with liver
cirrhosis: role of alcoholism and impaired liver function. Scand J Gastroenterol. 1999 May;34(5):520-3.
McClain CJ, Barve S, Deaciuc I, Kugelmas M, Hill D. Cytokines in alcoholic liver disease. Semin Liver Dis. 1999;19(2):205-19.
Bunout D. Nutritional and metabolic effects of alcoholism: their relationship with alcoholic liver disease.
Nutrition. 1999 Jul-Aug;15(7-8):583-9.
Hoek JB. Endotoxin and alcoholic liver disease: tolerance and susceptibility. Hepatology. 1999 May;29(5):1602-4.
Sorbi D, Boynton J, Lindor KD. The ratio of aspartate aminotransferase to alanine aminotransferase: potential value in differentiating nonal-
coholic steatohepatitis from alcoholic liver disease. Am J Gastroenterol. 1999 Apr;94(4):1018-22.
Fletcher LM, Halliday JW, Powell LW. Interrelationships of alcohol and iron in liver disease with particular reference to the iron-binding pro-
teins, ferritin and transferrin. J Gastroenterol Hepatol. 1999 Mar;14(3):202-14.
Keshavarzian A, Holmes EW, Patel M, Iber F, Fields JZ, Pethkar S. Leaky gut in alcoholic cirrhosis: a possible mechanism for alcohol-induced
liver damage. Am J Gastroenterol. 1999 Jan;94(1):200-7.
Doenas do Aparelho Digestivo
524
FGADO - Hepatoxicidade por Drogas
525
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXV
HEPATOXICIDADE POR DROGAS
1. Introduo
2. Avaliao de Causalidade
3. Aspectos Clnicos Gerais
4. Patofisiologia
5. Histopatologia
6. Preveno
7. Teraputica
525
Doenas do Aparelho Digestivo
1. INTRODUO
A hepatotoxicidade por drogas representa um importante problema clinico por vrias
razes o fgado o principal rgo do metabolismo das drogas, podendo gerar meta-
bolitos reactivos com potencialidades hepatotxicas. Esta toxicidade pode ocorrer por
efeito directo ou por mecanismos imunolgicos. Entre 500 a 1000 drogas tm sido
apontadas como indutoras de anomalias nas provas funcionais hepticas ou de leso
do fgado. Esta leso pode ser causa de insuficincia heptica fulminante, com um
prognostico particularmente mau. A reaco adversa a drogas causa de 2% - 3% de
internamentos hospitalares. Finalmente, a hepatopatia induzida por drogas pode
mimetizar virtualmente qualquer doena hepatobiliar e deve por isso ser includa no
diagnstico diferencial das doenas hepticas de origem desconhecida.
2. AVALIAO DA CAUSALIDADE
Considerando que todos os tipos de doena hepatobiliar podem ser mimetizados por
reaces adversas a drogas, e dado que no existe um teste diagnstico especfico
desta eventualidade, a avaliao de uma relao causal entre a administrao de uma
droga e a leso heptica uma tarefa difcil. H vrios mtodos que tentam definir
essa relao de causalidade, incorporando a maioria deles os seguintes factores:
Cronologia da administrao da droga, analisando designadamente o intervalo
entre o incio ou o fim do tratamento, e o incio da reaco adversa;
A evoluo da reaco aps suspenso da droga ou durante o tratamento conti-
nuado;
A resposta readministrao da droga;
Os resultados de testes laboratoriais;
Conhecimento de que a droga pode causar este particular tipo de agresso hep-
tica.
Com base nessas informaes, as probabilidade de que a leso heptica tenha sido
determinado por uma droga, pode estimar-se da seguinte forma:
FGADO - Hepatoxicidade por Drogas
527
3. ASPECTOS CLNICOS GERAIS
O diagnstico de hepatopatia por drogas usualmente sustentado em evidncias cir-
cunstanciais, aps excluso de outras causas. A reintroduo da droga poderia forne-
cer, na maioria dos casos, uma resposta positiva, no entanto essa administrao
intencional eticamente inaceitvel dado que pode induzir uma eventual reaco
severa.
Tipicamente, a hepatotoxicidade por drogas inicia-se um a dois meses aps o incio
da sua administrao, mas o perodo de latncia pode ser superior.
O quadro clnico muito varivel, reflectindo o amplo espectro das doenas hepato-
biliares. Na maioria dos casos, a agresso heptica por drogas manifesta-se sob a
forma de uma hepatite aguda ou crnica, ou de uma sindrome colesttica com icter-
cia e prurido.
Aps suspenso da droga, ocorre melhoria sintomtica rpida (dentro de dias) em
doentes com leso hepatocelular, e mais lenta (semanas a meses) em doentes com
sindrome de colestase.
A leso heptica definida pelo aumento das transaminases oxalactica e pirvica ou
por hiperbilirrubinmia conjugada superior a duas vezes o valor normal; ou por um
aumento combinado da transaminase pirvica, da fosfatase alcalina e da bilirrubin-
mia total, com um destes valores superior a duas vezes o padro normal.
A leso heptica considerada hepatocelular quando h aumento isolado das transa-
minases ou se R>5 (R = transaminases/fosfatase alcalina, ambos os valores expressos
em mltiplos do padro normal). A leso heptica de ndole colesttica se existe
elevao isolada da fosfatase alcalina, ou se R<2, considerada mista quando 2<R<5.
Doenas do Aparelho Digestivo
528
Muito provvel A reintroduo da droga induz a mesma reaco.
Provvel Foram eliminadas ouras principais causas. Sabe-se que a droga pode ori-
ginar este tipo de leso heptica.
Possvel O aparecimento da reaco compatvel com o timing da administra-
o da droga. Outras causas no foram definitivamente excludas.
Excluda Incompatibilidade temporal: a droga foi administrada aps a reaco, ou
esta surge mais de duas semanas (leso hepatocelular ou mais de qua-
tro semanas (leso colesttica) aps a suspenso da droga.
Foi evidenciada de forma indiscutvel uma outra causa, no relacionada
com drogas.
AVALIAO DA PROBABILIDADE DE LESO HEPTICA INDUZIDA POR DROGAS
Se a leso heptica dura mais de trs meses, considera-se crnica. A leso heptica
severa quando o paciente est ictrico, com protrombinmia <50%, ou se desenvol-
ve um quadro encefaloptico.
Em certos casos, pode ocorrer uma situao de insuficincia heptica fulminante (ver
captulo respectivo).
4. PATOFISIOLOGIA
No mbito da agresso heptica por drogas, podem ocorrer dois tipos de reaces:
tipo A e tipo B. A reaco de tipo A acontece de forma previsvel, dose-dependente
e usualmente bem conhecida a partir de ensaios clnicos ou da experimentao ani-
mal. Este tipo de reaco ocorre, por isso, devido a utilizao inadequada destes
agentes, induzindo um quadro histolgico especfico. O tetracloreto de carbono, o fs-
foro e o acetaminoferro so exemplos de drogas que induzem este tipo de agresso.
A reaco de tipo B imprevisvel, e tipicamente acontece com doses teraputicas.
Este tipo de toxicidade tem baixa frequncia, e por isso no usualmente detectado
em ensaios clnicos ou na experimentao animal. O quadro histolgico no uni-
forme, e a leso heptica ode acompanhar-se de sintomas sistmicos como febre,
erupo cutnea, eosinofilia e auto-anticorpos sricos.
O mecanismo de toxicidade est bem esclarecido s para algumas hepatotoxinas.
Bsicamente conhecem-se dois mecanismos moleculares de hepatotoxicidade: toxici-
dade metablica e toxicidade mediada por fenmenos imunitrios.
No mecanismo de toxicidade metablica, tipificada na intoxicao pelo paracetamol
(acetaminofeno), a excessiva formao de metabolitos reactivos determina a deplec-
o do glutatio, a ligao covalente a protenas hepatocelulares, a formao de radi-
cais livres de oxignio e a peroxidao lipdica, eventos que comprometem funes
especficas celulares, levando eventualmente morte das hepticas ou de outras
linhas celulares. A extenso das leses celulares iniciadas por esses eventos bioqui-
micos nos hepatcitos, pode ser ampliada pelas clulas de Kupffer, or neutrofilos, por
endotoxinas e por citocinas (IL-1, TNF, IL-8).
Na agresso heptica por certas drogas, estariam envolvidos mecanismos imunolgicos.
Os metabolitos gerados nos hepatcitos pelo citocromo P-450 (CYP) 2E1 e pela UDP-
glucoroniltransferase, formam adutos covalentes com protenas hepatocitrias, presen-
tes como antignios na membrana plasmtica. A resposta imunitria traduz-se numa
hepatite imunoalrgica, ou numa hepatite auto-imune. Os hepatcitos so destrudos
por anticorpos ou por mecanismos mediados por linfcitos T.
FGADO - Hepatoxicidade por Drogas
529
5. HISTOPATOLOGIA
Histolgicamente, as leses hepticas induzidas por drogas podem ser classificadas
em cinco grandes categorias que abrangem o amplo espectro das doenas epatobilia-
res e incluem quadros de hepatite, colestase, fibrose, leses vasculares e neoplasias
hepticas, como se resume no quadro seguinte:
Doenas do Aparelho Digestivo
530
Hepatite aguda
Necrose zonal: CCL
4
, paracetamol, fsforo
Necrose difusa, focal: aspirina e muitos outros componentes
Leso tipo hepatite viral: halotano, diclofenac, isoniazida
Granuloma: alopurinol, quimidina, fenotona
Hepatite crnica
Leso tipo auto-imune: -metildopa, nitrofurantona, diclofenac
Leso tipo hepatite viral crnica: amiodarona, aspirina, isomiazida
Esteatose microvesicular: aspirina, tetraciclina, valproato
Esteatohepatite no alcolica: amiodarona, bloqueadores de Ca
Fosfolipidose: amiodarona
Colestase aguda: estrognios, esterides, eritromicina, piroxicam
Colestase crnica: clorpromazina, haloperidol, tolbutamida, penicilinas, ti obenda-
zole, antidepressivos triciclicos
Perisinusoidal: metotrexato, vit. A
Doena veno-oclusiva: azatioprina, agentes alquilantes
Trombose da veia porta: estrognios
Hipertenso portal no cirrtica: azatioprina, G-tioguamidina
Peliose heptica: azatioprina, estrognios, esterides anabolizantes
Adenoma: estrognios
Hepatocarcinoma: estrognios, esterides anabolizantes, ciproterona
Angiosarcoma: cloreto de vinil, torotraste
CLASSIFICAO HISTOPATOLGICA DAS LESES HEPTICAS POR DROGAS
Leso Hepatocelular
Alteraes Vasculares
Fibrose
Colestase
Neoplasmas
6. PREVENO
A teraputica mais eficaz na hepatopatia induzida por drogas, a preveno. Neste
mbito, o conhecimento dos factores de risco de hepatotoxicidade pode dissuadir o
clnico a prescrever determinado frmaco ou lev-lo a uma rpida suspenso do agen-
te quando ocorre toxicidade. Por outro lado, relativamente s drogas com elevado
risco de hepatotoxicidade, devem ser implementadas medidas de preveno secund-
ria, mediante a monitorizao eficiente da teraputica.
A FACTORES DE RISCO
Doena heptica pr-existente
Estudos recentes evidenciam que a hepatite viral um factor de risco na induo de
hepatotoxicidade por frmacos anti-tuberculosos.
No doente com hemocromatose gentica, o suplemento com vit. C pode aumentar o
risco de desenvolvimento do cacinoma hepatocelular.
Abuso crnico de lcool
No indivduo alcolico, o acetaminofeno pode induzir leso heptica em doses consi-
deradas teraputicas. Dois mecanismos justificam essa possibilidade: por um lado o
lcool activa o metabolismo, ao induzir a actividade do citocromo P-450 2EA, com
consequente aumento de metabolitos txicos do paracetamol; e por outro lado, o
abuso de lcool determina a depleco do glutatio das mitocndrias.
Idade
Na populao geritrica, cerca de 20% de todas as hepatites so induzidas por dro-
gas, enquanto que essa percentagem diminui para 2-5% considerando todas as fai-
xas etrias. No se sabe se a idade um factor de risco independente, no entanto,
existem vrios factores que aumentam com a idade, os quais podem contribuir para
o incremento do risco de hepatotoxicidade:
Maior consumo de frmacos no idoso;
Polimedicao. A incidncia de reaces adversas aumenta exponencialmente com
o nmero de frmacos prescritos.
Exposio prvia. A repetio da exposio a determinado frmaco aumenta com
a idade, pelo que tambm aumenta a probabilidade de reaces imunoalrgicas.
Farmacocintica. A biodisponibilidade e o metabolismo dos frmacos altera-se com
a idade. Os nveis da albumina srica tendem a diminuir, e a funo renal declina.
Tudo conjugado, poder aumentar o risco de hepatotoxicidade.
Vrios estudos evidenciaram que no doente idoso maior o risco de aumento das
transaminases quando necessita de teraputica anti-bacilar.
FGADO - Hepatoxicidade por Drogas
531
O valproato pode induzir esteatose microvesicular, usualmente acompanhada de
necrose, com alta taxa de mortalidade. Os maiores factores de risco de toxicidade
pelo valproato so a idade inferior a 2 anos, a polimedicao, o atraso psicomo-
tor e a existncia de defeitos metablicos.
Sexo
Os sexos masculino e feminino diferenciam-se claramente na farmacocintica das dro-
gas. Os dois sexos diferem tambm na resposta s drogas e na incidncia de reac-
es adversas. De facto, a partir da idade de vinte anos, a incidncia destas reaces
na mulher cerca de 1-2 vezes maior do que no homem. Alis esse risco mais acen-
tuado no sexo feminino tem sido avaliado tambm relativamente a frmacos espec-
ficos. Por exemplo, a hepatotoxicidade ao halotano ocorre 1.5 2 vezes mais na
mulher do que no homem. Outro exemplo o da hepatotoxicidade aos AINEs, que
cerca de 2 vezes superior no sexo feminino. Um tipo particular de leso heptica que
ocorre mais comummente na mulher uma forma de hepatite crnica que lembra a
hepatite auto-imune, induzida pelos seguintes frmacos; metildopa (aldomet), diclo-
fenac, minociclina e nitrofurantona.
Drogas que afectam o metabolismo
H vrias drogas que podem aumentar o risco de leso heptica ao alterarem o meta-
bolismo de agentes potencialmente hepatotxicos. Esse aumento de risco pode ser
devido a induo da actividade metablica, a inibio das vias de desintoxicao ou
a competio com essas vias. Vrios exemlos podem ser indicados: a interaco entre
a isoniazida e o acetaminofeno, o aumento de risco do valproato quando se adminis-
tram concomitantemente outros frmacos anti-convulsivantes, e e maior incidncia de
hepatotoxicidade isoniazida quando se associa a rifampicina.
Nutrio
O jejum, a m nutrio e certos alimentos podem alterar o metabolismo das drogas
e a susceptibilidade toxicidade. O jejum aumenta designadamente a hepatotoxicida-
de do acetaminofeno, porque diminui a capacidade de glucocoronidao, aumenta a
actividade do sistema CYP 2E1 e promove a depleo dos nveis de glutatio no fga-
do.
No animal de experincia, a m nutrio proteica predispe doena veno-oclusiva
heptica. Esta tendncia foi tambm documentada no homem. A deprivao proteica
esgota os nveis hepticos de glutatio, o principal mecanismo promotor da doena
veno-oclusiva.
O metabolismo das drogas pode ser afectado pela ingesto de certos alimentos e
bebidas. Por exemplo, a couve de bruxelas, o repolho e a carne grelhada em carvo,
aumentam o metabolismo da fenacitina. A toranja aumenta a biodisponibilidade de
certos frmacos, inclundo a ciclosporina, a felodipina, a nifedipina e o midazolam.
Doenas do Aparelho Digestivo
532
Insuficincia renal
amplamente referenciado que a insuficincia renal uma contra-indicao relativa
da teraputica com metotrexato.
A tetraciclina pode induzir um quadro de esteatose microvesicular severa, sendo os
principais factores de risco o terceiro trimestre da gravidez e a insuficincia renal.
Certos AINEs diclofenac, indometacina, sulindac e naproxeno so mais hepatot-
xicos em indivduos com idade superior a 60 anos e que padecem de insuficincia
renal.
Predisposio gentica e familiar
Parece existir uma predisposio gentica para a toxicidade de certos frmacos anti-
epilpticos (fenitona, carbamazepina e fenobarbital).
Tambm se postula a existncia de um defeito gentico nos mecanismos hepticos de
metabolizao na toxicidade por sulfonamidas, defeitos extensivos aos familiares do
doente.
A hepatite colesttica da clorpromazina e as agresses hepticas da isoniazida, seriam
explicadas parcialmente por vcios genticos na metabolizao heptica.
Histria familiar ou pessoal de colestase intraheptica
Cerca de 50% das mulheres com colestase induzida por conraceptivos orais, tm his-
tria de colestase em gravidez prvia. Esta predisposio para colestase induzida por
estrognios parece ser familiar: as mes e irmos das doentes experimentaram mais
queixas de prurido durante a gravidez ou a toma de contraceptivos orais.
B MONITORIZAO DA TERAPUTICA
Medicao antituberculosa.
Segundo recomendaes recentes de hepatologistas franceses e ingleses, deve rea-
lizar-se uma monitorizao apertada em todos os doentes tratados com frmacos para
a tuberculose. Essa monitorizao consiste na realizao de provas laboratoriais hep-
ticas duas vezes por semana nas duas primeiras semanas, cada duas semanas nas
seis semanas seguintes e posteriormente com ritmo mensal. essencial recomendar
ao doente que procure o seu mdico no caso de surgir anorexia, mal estar, fadiga,
nusea, vmito, ictercia ou dor abdominal. Se as transaminases sricas aumentam 2
a 3 vezes durante a monitorizao, as provas hepticas devem realizar-se semanal-
mente. Se essas elevaes so superiores a 3-5 vezes o limite superior normal, a
medicao deve ser suspensa.
Metotrexato.
Existem vrias metodologias de monitorizao recomendadas para doentes que neces-
sitam de medicao com metotrexato. Uma dessas metodologias consiste na realiza-
o de bipsia heptica antes de iniciar o tratamento, em todos os doentes com ano-
FGADO - Hepatoxicidade por Drogas
533
malias dos testes laboratoriais hepticos. Nos doentes sem anomalias da funo
heptica, deve realizar-se bipsia aps a administrao de 3-4 gr do frmaco. Se os
achados da bipsia so anormais, esta deve ser repetida a intervalos curtos.
Valproato.
Este frmaco deve ser evitado nos doentes com defeitos metablicos conhecidos ou
suspeitados. A monitorizao deve ser clnica e laboratorial (provas hepticas), com
ritmo mensal durante os primeiros seis meses de tratamento.
7. TERAPUTICA
A DIAGNSTICO PRECOCE
O diagnstico precoce o ponto essencial na teraputica da hepatopatia por drogas,
sendo de considerar os seguintes aspectos:
Diagnstico diferencial com outras hepatopatias
Estabelecer uma relao temporal de causalidade
Recorrncia da hepatopatia aps reintroduo do frmaco
Nveis plasmticos das drogas e testes laboraotiais hepticos
Para toxinas dose dependentes, a determinao do nvel sanguneo de uma
droga pode auxiliar no diagnstico. Citem-se a ttulo de exemplo, as mensu-
raes plasmticas do acetaminofeno, ciclosporina e salicilatos.
Bipsia heptica
Embora a bipsia heptica tenha indicaes limitadas na formulao do diagnstico
de hepatotoxicidade por drogas, pode ser til em certas situaes especificas, nomea-
damente aps a transplantao heptica ou quando muito importante para o doen-
te a continuao do medicamento
Auto-anticorpos
A presena de auto-anticorpos pode sugerir o diagnostico de hepatotoxicidade por
drogas. H vrios frmacos correntemente associados com a presena de auto-anti-
corpos que, no entanto, no so especficos de hepatopatia induzida por drogas: o
caso da a-metildopa, da nitrofurantona, da minociclina, do diclofenac e da papaveri-
na, que podem originar quadros de hepatite crnica. Por ouro lado, nas hepatites agu-
das por halotano ou acetaminofeno, podemos tambm detectar auto-anticor-
pos.
Doenas do Aparelho Digestivo
534
B TERAPUTICA DA INGESTO AGUDA
A primeira medida no tratamento de uma ingesto aguda tentar minimizar a agres-
so heptica pela droga. A lavagem gstrica uma medida benfica.
A administrao repetida de carvo activado revelou-se benfica na intoxicao pelo
acetaminofeno.
Na intoxicao por cogumelos, dado que a principal toxina implicada, a -amanitina,
submetida a intensa recirculao entero-heptica, recomenda-se a administrao de
carvo activado e de catrse salina.
Tm sido recomendados alguns antdotos especficos aps intoxicao aguda. O
melhor sucedido a N-acetilcistena na intoxicao pelo paracetamol. A desferoxami-
na recomendada na ingesto acidental de suplementos de ferro, embora ainda no
se encontre suficientemente documentado o seu benefcio. No tocante ao envenena-
mento por cogumelos, propes alguns autores a administrao de silibinina (4-5
mgr/kg/dia) e penicilina G (0.5 1 milho U/dia).
C CORTICOTERPIA
Existem vrios relatos na literatura do benefcio clnico aps a eliminao da droga e
a instituio de corticoterpia. No entanto, difcil de estabelecer se nesses casos a
adio de corticides conferiu alguma vantagem. Provvelmente as indicaes mais
aceites para a corticoterpia so os casos de hepatite crnica severa ou de hepatite
alrgica.
D TRANSPLANTAO HEPTICA
A apresentao clnica mais letal da hepatotoxicidade por drogas a insuficincia
heptica fulminante. Numa reviso de 1993, o National Digestive Diseases Advisory
Board dos E.U.A. reportou que 10% das crianas e 16% dos adultos submetidos a
transplantao heptica, tinha insuficincia heptica fulminante em crianas e 5% em
adultos.
No mbito da insuficincia heptica tem um timing prprio de realizao para a
obteno dos melhores resultados. Se os critrios recomendados forem satisfeitos, a
sobrevida ao fim de um ano, no caso de intoxicao pelo paracetamol, ultrapassa os
80%. bastante inferior a percentagem de sobrevida ps-transplantao, nas situa-
es de hepatite fulminante provocadas por outras drogas.
FGADO - Hepatoxicidade por Drogas
535
Doenas do Aparelho Digestivo
536
REFERNCIAS
Zimmerman HJ. Drug-induced liver disease. In: Shiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC. Schiffs Diseases of the Liver (8
th
Ed.).
Lippincott-Raven; 1999: 973-1064.
Krhenbhl S, Reichen J. Drug hepatotoxicity. In: Bacon BR, Di Bisceglie AM, eds. Liver Disease.
Diagnosis and Management. Churchill Livingstone; 2000: 294-309.
DeLeve LD, Kaplowitz N. Prevention and therapy of drug-induced hepatic injury. In: Wolfe MM, ed. Therapy of Digestive Disorders.
W.B.Saunders Co., 2000: 334-348.
Kaplowitz N. Drug metabolism and hepatotoxicity. In: Kaplowitz N, ed. Liver and Biliary Diseases. William & Wilkins; 1992: 82-97.
Bircher J. Criteria for the diagnosis of the adverse drug reactions. Baillires Clin Gastroenterol; 1988, 2(2): 259-262.
Larrey D & Erlinger S. Drug-induced cholestasis. Baillires Clin Gastroenterol; 1988, 2(2): 423-452.
Zimmerman HJ, Ishak KG. General aspects of drug-induced liver disease. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 739-758.
Ishak KG, Zimmerman HJ. Morphologic spectrum of drug-induced hepatic disease. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24 (4): 759-786.
DeLeve LD, Kaplowitz N. Mechanisms of drug-induced liver disease. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 787-810.
Watkins PB, Fontana RJ. Genetic predisposition to drug-induced liver disease. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 811-838.
Styrt B, Freiman JP. Hepatotoxicity of antiviral agents. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 839-852.
Holt C, Csete M, Martin P. Hepatotoxicity of anaesthetics and other central nervous system drugs.
Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 853-874.
Fry SW, Seeff LB. Hepatotoxicity of analgesics and anti-inflammatory agents. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 875-906.
Lee MW, Lahoti S. Hepatotoxicity of anti-cholesterol, cardiovascular and endocrine drugs and hormonal agents.
Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 907-922.
Reedy KR, Schiff ER. Hepatotoxicity of antimicrobial, antifungal and antiparasitic agents. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 923-936.
Lewis JH, Bashir RM. Hepatotoxicity of drugs used in the treatment of gastrointestinal disorders.
Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 937-968.
King PD, Perry MC. Hepatotoxicity of chemotherapeutic and oncologic agents. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 969-990.
Kowdley KV, Keeffe EB. Hepatotoxicity of transplant immunosuppressive agents. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 991-1002.
Bashir RM, Lipman TO. Hepatobiliary toxicity of the total parenteral nutrition in adults. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 1003-1026.
Zimmerman HJ, Lewis JH. Chemical and toxin-induced hepatotoxicity. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 1027-1046.
Speeg KV, Bay MK. Prevention and treatment of drug-induced liver disease. Gastroenterol Clin N Am; 1995, 24(4): 1047-1064.
Mallat A. Hpatites mdicamenteuses : diagnostic et prise en charge. Gastroenterol Clin Biol; 1999, 23: 906-914.
Danan G. Dfinitions et critres dimputation des atteintes hpatiques aigus mdicamenteuses. Gastroenterol Clin Biol; 1993, 17: H18-21.
Beaune PH, Lecoeur S. Immunotoxicology of the liver: adverse reactions to drugs. J Hepatology; 1997, 26 (suppl.2): 37-42.
Stricker BHC. Drug-induced hepatic injury. 2nd Ed. Amsterdam, Elsevier; 1992.
Larrey D, Michel H. Pathologie biliaire due aux mdicaments. Gastroenterol Clin Biol; 1993, 17: H59-65.
Berson A, Fromenty B, Letteron P, et al. Rle des mitochondries dans lhepatotoxicit des mdicaments.
Gastroenterol Clin Biol; 1998, 22: 59-72.
Pham BN, Bemuau J, Durand F, Sauvanet A, Degott C, Prin L, Janin A. Eotaxin expression and eosinophil infiltrate in the liver of patients
with drug-induced liver disease. J Hepatol. 2001 Apr;34(4):537-47.
Rodes J, Bruguera M. The uses of error: iatrogenic hepatitis. Lancet. 2001 Mar 10;357(9258):791.
Bechtel YC, Lelouet H, Brientini MP, David-Laroche M, Miguet JP, Paintaud G, Bechtel PR. Caffeine metabolism differences in acute hepatitis
of viral and drug origin. Therapie. 2000 Sep-Oct;55(5):619-27.
Conforti A, Leone R, Ghiotto E, Velo G, Moretti U, Venegoni M, Bissoli F. Spontaneous reporting of drug-related hepatic reactions from two
Italian regions (Lombardy and Veneto). Dig Liver Dis. 2000 Nov;32(8):716-23.
Luster MI, Simeonova PP, Gallucci RM, Matheson JM, Yucesoy B. Immunotoxicology: role of inflammation in chemical-induced hepatotoxicity.
Int J Immunopharmacol. 2000 Dec;22(12):1143-7.
Chitturi S, Farrell GC. Herbal hepatotoxicity: an expanding but poorly defined problem. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Oct;15(10):1093-9.
Casini A. Alcohol-induced fatty liver and inflammation: where do Kupffer cells act? J Hepatol. 2000 Jun;32(6):1026-30.
Shah RR. Drug-induced hepatotoxicity: pharmacokinetic perspectives and strategies for risk reduction. Adverse Drug React Toxicol
Rev. 1999 Nov;18(4):181-233.
Schenker S, Martin RR, Hoyumpa AM. Antecedent liver disease and drug toxicity. J Hepatol. 1999 Dec;31(6):1098-105.
Cotrim HP, Andrade ZA, Parana R, Portugal M, Lyra LG, Freitas LA. Nonalcoholic steatohepatitis: a toxic liver disease in industrial workers.
Liver. 1999 Aug;19(4):299-304.
FGADO - Cirrose Heptica
537
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXVI
CIRROSE HEPTICA
1. Conceito
2. Classificao
3. Patomorfologia
4. Patofisiologia
5. Clnica
6. Diagnstico
7. Tratamento
8. Prognstico
537
Doenas do Aparelho Digestivo
1. CONCEITO
Doena heptica crnica caracterizada por fenmenos de destruio e regenerao das
clulas parenquimatosas, e em que um aumento difuso do tecido conectivo induziu a
desorganizao da arquitectura lobular e vascular do fgado. De uma forma mais sim-
ples, a cirrose pode definir-se como um processo de fibrose difusa associada a ndu-
los parenquimatosos. A fibrose resulta sobretudo da formao de novas fibras de cola-
gnio, sendo geralmente considerada um consequncia da necrose hepatocelular. A
necrose por isso includa por alguns autores na definio da cirrose, mas no
necessariamente evidente nos estdios mais avanados da doena. Os ndulos do
fgado cirrtico representam o parnquima sobrevivente mas estruturalmente altera-
do, variando muito nas dimenses e no aspecto.
Esta definio distingue a cirrose de outras hepatopatias que podem evidenciar a for-
mao de ndulos ou de fibrose, mas no simultneamente os dois padres lesio-
nais. o caso, na primeira hiptese, da hiperplasia nodular regenerativa; e da esquis-
tossomase, na segunda hiptese.
2. CLASSIFICAO
A MORFOLGICA
Cirrose micronodular caracterizada por ndulos uniformes com menos de 3 mm de
dimetro: lcool, hemocromatose, obstruo biliar, bypass jejunoileal.
Cirrose macronodular caracterizada por apresentar ndulos com dimenses superio-
res a 3 mm de dimetro: hepatite crnica C e B, deficincia em 1-antitripsina, cirro-
se biliar primria.
Cirrose mista combinao das duas formas anteriores.
B - ETIOLGICA
Este mtodo de classificao o mais til clinicamente, na medida em que pode per-
mitir a identificao do agente etiolgico mediante a combinao de dados clnicos,
bioqumicos, histolgicos e epidemiolgicos.
A classificao etiolgica da cirrose heptica analisada no quadro seguinte:
FGADO - Cirrose Heptica
539
COMENTRIOS
A cirrose heptica tem uma incidncia global de 200 a 300 casos por 100.000 habi-
tantes, sendo mais frequente no homem do que na mulher. As diferenas geogrficas
na sua prevalncia so motivadas pelos padres de consumo de lcool e pela inci-
dncia de hepatites virais, as duas causas mais comuns desta doena.
Nos pases ocidentais industrializados, o consumo crnico de lcool a causa mais
frequente de cirrose heptica (pelo menos 50%).
Nos pases em desenvolvimento, a hepatite viral crnica (hepatite B isolada ou asso-
ciada hepatite D) a causa mais comum de cirrose. A progresso da hepatite B
aguda para hepatite crnica ocorre em cerca de 10% dos doentes, mas s 2-3%
desenvolvem cirrose. Quanto hepatite C, evolui muito mais frequentemente para a
cronicidade, estimando-se que 25-50% dos doentes desenvolvem quadros de cirrose
ao fim de 7 anos.
Nos doentes com distrbios metablicos do fgado, a cirrose desenvolve-se frequen-
temente na infncia, mas pode surgir tambm em idade adulta.
A hepatite auto-imune concorre em menos de 10% para todos os casos de cirrose
heptica.
A cirrose biliar pode resultar quer de formas primrias de colangite crnica, como
sucede na cirrose biliar primria ou na colangite esclerosante, quer da obstruo biliar
secundria crnica, designadamente em situaes de atrsia biliar ou de estenoses
benignas dos ductos biliares.
A cirrose heptica pode ser induzida tambm por drogas (por ex. metotrexato e amio-
darona) ou toxinas (por ex. tetracloreto de carbono ou dimetilnitrosaminas).
Doenas do Aparelho Digestivo
540
1.Hepatite viral (B, C, D, ?G)
2. lcool
3. Metablica
- Hemocromatose gentica
- Doena de Wilson
- Deficincia em 1-antitripsina
- Fibrose qustica
- Galactosmia
- Porfiria
- Outros distrbios metablicos
4. Doena biliar
- Obstruo biliar extra-heptica
- Obstruo biliar intra-heptica
- Cirrose biliar primria
- Colangite esclerosante primria
- Doenas biliares da infncia
CLASSIFICAO ETIOLGICA DA CIRROSE
5. Obstruo do fluxo venoso
- Sindroma de Budd-Chiari
- Doena veno-oclusiva
- Insuficincia cardaca direita
6. Drogas, toxinas e qumicos
7. Doenas imunolgicas
- Hepatite auto-imune
8. Miscelnea
- Outras infeces (sfilis, esquistossomase)
- Sarcoidose
- Esteatohepatite no alcolica
- Bypass jejuno-ileal
- Hipervitaminose A
- Criptognica
A insuficincia cardaca direita de longa evoluo (por ex. pericardite constritiva ou
insuficincia severa da tricspida) e a obstruo crnica do fluxo hepatovenoso (sin-
drome de Budd-Chiari), determinam congesto sinusoidal severa, com hipxia tissular
e necrose hepatocitria. Finalmente, pode surgir um processo de cirrose.
Em 10-30% dos casos de cirrose heptica, dependente das zonas geogrficas do
globo, a causa da doena desconhecida. a chamada cirrose criptognica.
3. PATOMORFOLOGIA
A bipsia heptica constitui o melhor mtodo de diagnstico da cirrose heptica.
Critrios definitivos de diagnstico:
Ndulos parenquimatosos rodeados inteiramente por tecido fibroso.
Pontes fibrosas centro-.portais. Septos fibrosos entre os espaos porta ou entre
vnulas centrais so observados em condies pr-cirrticas.
Critrios sugestivos de cirrose:
Fragmentao do retalho da bipsia.
Tecido conectivo rodeando mais de metade da circunferncia do fragmento paren-
quimatoso.
Septos fibrosos estendendo-se dos espaos porta para o parnquima, sem atin-
gir as veias centrais.
Disposio concntrica das lminas hepticas, particularmente na periferia dos
fragmentos parenquimatosos.
Variaes no grau de actividade regenerativa dos hepatcitos e compresso do
tecido heptico adjacente.
Variaes entre os ndulos hepatocitrios no tocante ao teor em gordura, glicog-
nio, pigmentos (ferro, cobre, blis) ou clulas inflamatrias.
Desproporo entre os espaos porta e as veias centrais, com reduo no nme-
ro, ausncia ou hipoplasia daqueles, e aumento no nmero destas.
Uma vez estabelecido o diagnstico histolgico de cirrose, o anatomopatologista pro-
cura facultar outros dados de grande importncia:
Sugestes etiolgicas:
Padro global da fibrose, presena do AgHBs, ferro, cobre, glbulos de 1-antitripsi-
na, fibrose concntrica periductal, leses dos ductos biliares, granulomas, esteatose,
esclerose hialina central, ocluso venosa, agregados linfides ou folculos, reduo
dos ductos biliares, etc.
FGADO - Cirrose Heptica
541
Grau de actividade e progresso:
Severidade da necrose hepatocelular, piecemeal necrosis, necrose confluente ou mul-
tilobular, inflamao, fibrose progressiva invadindo o parnquima.
Extenso das alteraes hepatocitrias/complicaes:
Leso celular, necrose, esteatose, colestase.
Leses pr-neoplsicas:
Ndulos hiperplsicos e adenomatosos, ndulos macroregenerativos, hepatcitos dis-
plsicos.
4. PATOFISIOLOGIA
A fibrognese iniciada pela leso hepatocitria crnica (induzida por vrus, txicos
ou agentes metablicos), induzindo a proliferao de clulas inflamatrias sanguneas,
de clulas de Kupffer e de plaquetas, com subsequente libertao de citocinas e de
factores do crescimento. Postula-se que as clulas de Ito (clulas estreladas ou lip-
citos) so o primeiro alvo da estimulao inflamatria. As clulas de Ito proliferam,
transformam-se em miofibroblastos e sintetizam grande quantidade de componentes
do tecido conectivo (colagnio, fibronectina, tenascina, undulina, laminina, proteogli-
canos, etc).
Pensa-se que a TGF- - transforming growth factor beta a principal citocina fibro-
gnica durante o processo de fibrognese heptica. Esta citocina estimula a sntese
da matriz pelas clulas de Ito e interage com o factor epidrmico do crescimento ela-
borado nas plaquetas. tambm de crucial importncia para a fibrognese heptica,
uma alterao na degradao da matriz mediada por uma complexa interaco de
diferentes metaloproteinases.
Importa tambm sublinhar, que um dos eventos iniciais da fibrognese a acumula-
o subendotelial de colagnio, a chamada capilarizao dos sinusides que tem
lugar nos espaos de Disse e impede as trocas metablicas com os hepatcitos. O
desenvolvimento de septos fibrosos centro-portais, porto-portais e centro-centrais
induz a formao de ndulos de regenerao, que representam tecido normal rodea-
do de uma carapaa fibrosa.
5. CLNICA
O espectro clnico da cirrose heptica muito amplo, desde situaes clinicamente
Doenas do Aparelho Digestivo
542
silenciosas at formas muito exuberantes. So os seguintes os sintomas que podem
ser traduo de uma cirrose heptica:
Sintomas gerais
Fadiga, anorexia, mal-estar, emagrecimento, febre e atrofia muscular.
Sintomas gastrointestinais
Hipertrofia das partidas, diarreia, litase biliar, hemorragia digestiva.
Achados hematolgicos
Anemia (deficincia em folato, hemoltica, esplenomeglia), trombocitopenia, leu-
copenia, discrasia sangunea, coagulao vascular disseminada, hemosiderose.
Alteraes pulmonares
Reduo na saturao do oxignio, alterao nas relaes ventilao-perfuso,
hiperventilao, reduo na capacidade de difuso pulmonar, hidrotrax heptico,
usualmente direita (70%), sindrome hepatopulmonar (trade de hepatopatia,
aumento no gradiente alvolo-arterial durante a respirao do ambiente e evidn-
cia de dilataes vasculares intrapulmonares. Esta sndrome caracteriza-se por dis-
pneia, platipneia, ortodeoxia, dedos em baqueta de tambor e hipoxmia severa).
Alteraes cardacas
Circulao hiperdinmica.
Alteraes renais
Hiperaldosteronismo secundrio (que induz reteno de sdio e gua), glomeru-
losclerose heptica, acidose tubular renal, sindrome hepatorenal.
Alteraes endcrinas
Hipogonadismo (no homem: perda da lbido, atrofia testicular, impotncia, redu-
o na produo de testosterona; na mulher: infertilidade, dismenorreia).
Feminizao (por aco dos estrognios): aranhas vasculares, eritema palmar, gine-
comastia, rarefaco pilosa e distribuio feminina da pilosidade pbica (no
homem).
Diabetes.
Nveis elevados das hormonas paratiroideias (por hipovitaminose D e hiperparati-
roidismo secundrio?).
Alteraes neurolgicas
Encefalopatia heptica.
Neuropatia perifrica.
Alteraes msculo-esquelticas
FGADO - Cirrose Heptica
543
Reduo das massas musculares, osteoartropatia hipertrfica (sinovite, periostite
e clubbing), osteodistrofia heptica, hrnia umbilical, espasmos musculares.
Alteraes dermatolgicas
Aranhas vasculares, eritema palmar, contractura de Dupuytren, alteraes
ungueais, ictercia, prpura, circulao venosa colateral, lngua despapilada, anel
de Kaiser-Fleischer (crnea).
Complicaes potenciais (ver captulos respectivos)
Hipertenso portal.
Ascite.
Peritonite bacteriana espontnea.
Encefalopatia heptica.
Sindrome hepatorenal.
Carcinoma hepatocelular.
6. DIAGNSTICO
A EXAME FSICO
Sinais de doena heptica crnica e/ou cirrose
Aranhas vasculares (spider nevi).
Eritema palmar.
Contractura de Dupuytren.
Ginecomastia.
Atrofia testicular.
Sinais de hipertenso portal
Ascite.
Esplenomeglia.
Caput medusae.
Evidncia de circulao hiperdinmica (por ex. taquicardia em repouso).
Sinais de encefalopatia heptica
Confuso.
Fetor hepaticus.
Asterixis.
Outros sinais
Doenas do Aparelho Digestivo
544
Ictercia.
Hipertrofia das partidas.
Rarefaco pilosa (trax e axilas).
B AVALIAO LABORATORIAL
Testes de necrose heptica
Transaminases (oxalactica e pirvica).
Desidrogenase lctica (LDH).
Testes de colestase
Fosfatase alcalina.
Bilirrubinmia total e fracionada.
GT (gamaglutamiltranspeptidase).
5-nucleotidase.
Testes da funo de sntese
Albuminmia.
Tempo de protrombina.
Outros testes especiais
Serologia da hepatite viral.
Sidermia, saturao da transferina, ferritinmia.
Ceruloplasmina srica.
Perfil de a1-antitripsina.
Imunoglobulinas sricas.
Auto-anticorpos: anti-nuclear, anti-msculo liso, anti-LKM, anti-mitocondriais.
a-fetoprotena (rastreio do hepatocarcinoma).
C IMAGIOLOGIA
Ultrasonografia abdominal
Exame no invasivo, relativamente barato.
Pode detectar facilmente ascite, dilatao biliar, massa heptica.
A US com Doppler pode avaliar o fluxo nas veias porta e hepticas.
Tomografia computorizada (TC)
Exame no invasivo, mais caro.
Os achados na cirrose so inespecficos.
Pode ser til no diagnstico da hemocromatose (aumento na densidade heptica).
FGADO - Cirrose Heptica
545
Ressonncia magntica (RM)
Exame no invasivo, caro.
Excelente para avaliao de leses hepticas suspeitas.
Provvelmente mais fivel do que a US com Doppler.
Excelente para avaliar a sobrecarga em ferro.
A colangiografia por RM um exame promissor na visualizao da rvore biliar.
D BIPSIA HEPTICA
O exame gold standard para o diagnstico da cirrose.
Usualmente realizado por via percutnea.
Exame de relativamente baixo risco.
Complicaes: hemorragia, perfurao e pneumotrax.
7. TRATAMENTO
Em certas situaes recomendam-se medidas teraputicas especficas:
Flebotomias na hemocromatose.
D-penicilamina na doena de Wilson.
Abstinncia alcolica na cirrose alcolica.
Agentes antivirais (por ex. a-interfero) nos processos induzidos por certos vrus.
Na maioria dos casos, a abordagem teraputica incide nas complicaes da cirrose
heptica (ver captulos respectivos).
Em doentes seleccionados (por ex. com hepatite crnica B ou C e hemocromatose),
recomenda-se o rastreio do hepatocarcinoma, mediante a realizao peridica (por ex.
cada 6 meses) de ultra-sonografia abdominal associada mensurao da
-fetoprotena.
Nos estdios avanados de cirrose, a transplantao heptica representa a nica espe-
rana de sobrevida.
8. PROGNSTICO
Depende do desenvolvimento de complicaes relacionadas com a cirrose.
A classificao actualmente mais utilizada para avaliar a sobrevida, a de Child-Pugh,
a seguir descriminada:
Doenas do Aparelho Digestivo
546
Os doentes com cirrose compensada podem ter uma expectativa de vida relativamen-
te longa se no exibirem evidncia de descompensao. No doente compensado, a
estimativa de sobrevida aos 10 anos de 47%, aproximadamente. Essa taxa baixa
para 16% aos 5 anos, se ocorre descompensao.
FGADO - Cirrose Heptica
547
CLASSIFICAO DE CHILD-PUGH PARA A CIRROSE
Parmetro Score numrico
1 2 3
Ascite No Ligeira Moderada/Severa
Encefalopatia No Ligeira/Moderada Moderada/Severa
Bilirrubina (mgr/dl) < 2.0 2 3 >3.0
Albumina (mgr/dl) > 3.5 2.8 3.5 < 2.8
Tempo de protrombina 1 3 4 - 6 > 6.0
(aumento em segundos)
Score numrico total Classe de Child-Pugh
5 6 A
7 9 B
10 - 15 C
Doenas do Aparelho Digestivo
548
REFERNCIAS
Sherlock S, Doodley J, eds. Diseases of the liver and biliary system (10
th
Ed.). Blackwell Science, 1997.
Thung SN, Gerber MA, eds. Liver disorders. Differential diagnosis in pathology. Igaku-Shoin; 1995.
Galambos JT, ed. Cirrhosis. W.B.Saunders Co., 1979.
Petruff CA, Chopra S. Cirrhosis and portal hypertension: an overview. In: Friedman LS, Keeffe EB, eds. Handbook of liver disease.
Churchill Livingstone; 1998: 125-138.
Bacon BR, Di Bisceglie AM, eds. Liver Disease. Diagnosis and management. Churchill Livingstone, 2000.
Peneda J. Cirrose heptica alcolica. Contribuio para o estudo dos lcoois congneres do etanol na induo da doena.
Tese de Doutoramento. Lisboa, 1988.
Santos RMCM. Fibrose heptica alcolica. Contribuio para o estudo do papel do TGF-. Tese de Doutoramento. Coimbra, 1995.
Simo A, Porto A. A importncia da doena heptica crnica em Portugal. Rev Gastroenterol Cir; 1998, 15: 1-12.
Porto A, ed. lcool e aparelho digestivo. Permanyer Portugal, 2000.
Pilette C, Rousselet MC, Bedossa P, et al. Histopathological evaluation of liver fibrosis: quantitative image analysis vs semi-quantitative scores.
J Hepatology; 1998, 28: 439-446.
Oberti F, Valsesia E, Pilette C, et al. Non-invasive diagnosis of hepatic fibrosis or cirrhosis. Gastroenterology; 1997, 113: 1609-1616.
Pilette C, Fort J, Cals P. Traitement pharmacologique de la fibrose hpatique : bientt disponible? Hepato-Gastro; 1998, 5(3): 223-230.
Martin AM, Tejada M, Ruiz A, et al. Clinical and prognostic aspects of liver cirrhosis: a study of 231 cases.
Eur J Gastroenterol & Hepatol; 1993, 5: 555-559.
Nomenclature des nodules hpatocytaires. International Working Party. Gastroenterol Clin Biol; 1996, 20: 616-618.
Borie DC, Miguet JP. Cirrhose alcoolique et transplantation hpatique : quels critres dindication?
Gastroenterol Clin Biol; 1999, 23: 171-177.
Pilette C, Croquet V, Cals P. Diagnostic prcoce et non invasif de la cirrhose du foie. Gastroenterol Clin Biol; 1999, 23: 557-565.
Duraud F, Batel P, Bernuau J, et al. Transplantation hpatique pour cirrhose alcoolique. Hepato-Gastro; 1998, 5(5): 347-351.
Corrao G, Arico S, Zambon A, et al. Female sex and the risk of liver cirrhosis. Scand J Gastroenterol; 1997, 32: 1174-1180.
Pietrangelo A. Iron, oxidative stress and liver fibrogenesis. J Hepatology; 1998, 28: 8-13.
Bruel JM. Imagerie des nodules sur cirrhose: quels nodules, quelle imagerie, quelle conduite? Gastroenterol Clin Biol; 1999, 23: 97-100.
Labadie H, Seror O, Beaugrand M. Faut-il biopser les petits nodules sur foie cirrhotique? Gastroenterol Clin Biol; 1999, 23: 640-643.
Borzio M, Borzio F, Croce A, et al. Ultrasonography-detected macroregenerative nodules in cirrhosis: a prospective study.
Gastroenterology; 1997, 112: 1617-1623.
Albanis E, Friedman SL. Hepatic fibrosis: pathogenesis and principles of therapy. Clin in Liver Disease; 2001, 5(2): 315-334.
Sterling RK, Fisher RE. Liver transplantation: living donor, hepatocyte and xenotransplantation. Clin in Liver Disease; 2001, 5(2): 431-460.
Cahill PA, Redmond EM, Sitzmann JV. Endothelial dysfunction in cirrhosis and portal hypertension. Pharmacol Ther. 2001 Mar;89(3):273-93.
Hadoke PW. Cirrhosis of the liver and receptor-mediated function in vascular smooth muscle. Pharmacol Ther. 2001 Mar;89(3):233-54.
Blendis L, Wong F. The hyperdynamic circulation in cirrhosis: an overview. Pharmacol Ther. 2001 Mar;89(3):221-31.
Vlachogiannakos J, Tang AK, Patch D, Burroughs AK. Angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II antagonists as therapy in
chronic liver disease. Gut. 2001 Aug;49(2):303-8.
Ramachandran A, Balasubramanian KA. Intestinal dysfunction in liver cirrhosis: Its role in spontaneous bacterial peritonitis.
J Gastroenterol Hepatol. 2001 Jun;16(6):607-12.
MacDonald GA, Bridle KR, Ward PJ, Walker NI, Houglum K, George DK, Smith JL, Powell LW, Crawford DH, Ramm GA. Lipid peroxidation in
hepatic steatosis in humans is associated with hepatic fibrosis and occurs predominately in acinar zone 3.
J Gastroenterol Hepatol. 2001 Jun;16(6):599-606.
Valla DC, Degos F. Chemoprevention of hepatocellular carcinoma in hepatitis C virus-related cirrhosis: first, eliminate the virus.
J Hepatol. 2001 Apr;34(4):606-9.
Albanis E, Friedman SL. Hepatic fibrosis. Pathogenesis and principles of therapy. Clin Liver Dis. 2001 May;5(2):315-34.
Rambaldi A, Gluud C. Colchicine for alcoholic and non-alcoholic liver fibrosis or cirrhosis. Liver. 2001 Apr;21(2):129-36.
Hollinger FB. Factors contributing to the evolution and outcome of cirrhosis in hepatitis C. Clin Liver Dis. 1999 Nov;3(4):741-55.
Habib A, Bond WM, Heuman DM. Long-term management of cirrhosis. Appropriate supportive care is both critical and difficult.
Postgrad Med. 2001 Mar;109(3):101-13.
Neubauer K, Saile B, Ramadori G. Liver fibrosis and altered matrix synthesis. Can J Gastroenterol. 2001 Mar;15(3):187-93.
Moller S, Bendtsen F, Henriksen JH. Splanchnic and systemic hemodynamic derangement in decompensated cirrhosis.
Can J Gastroenterol. 2001 Feb;15(2):94-106.
Schuppan D, Koda M, Bauer M, Hahn EG. Fibrosis of liver, pancreas and intestine: common mechanisms and clear targets?
Acta Gastroenterol Belg. 2000 Oct-Dec;63(4):366-70.
Cardenas A, Bataller R, Arroyo V. Mechanisms of ascites formation. Clin Liver Dis. 2000 May;4(2):447-65.
Rockey DC. The cell and molecular biology of hepatic fibrogenesis. Clinical and therapeutic implications. Clin Liver Dis. 2000 May;4(2):319-55.
Garcia-Tsao G. Current management of the complications of cirrhosis and portal hypertension: variceal hemorrhage, ascites, and spontaneous
bacterial peritonitis. Gastroenterology. 2001 Feb;120(3):726-48.
Krige JE, Beckingham IJ. ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system: portal hypertension-2. Ascites, encephalopathy, and other
conditions. BMJ. 2001 Feb 17;322(7283):416-8.
Gerber T, Schomerus H. Hepatic encephalopathy in liver cirrhosis: pathogenesis, diagnosis and management.
Drugs. 2000 Dec;60(6):1353-70.
Haydon GH, Neuberger J. Liver transplantation of patients in end-stage cirrhosis. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol.
2000 Dec;14(6):1049-73.
Uriz J, Cardenas A, Arroyo V. Pathophysiology, diagnosis and treatment of ascites in cirrhosis. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol.
2000 Dec;14(6):927-43.
Wu J, Zern MA. Hepatic stellate cells: a target for the treatment of liver fibrosis. J Gastroenterol. 2000;35(9):665-72.
Fontana RJ, Lok AS. Lamivudine treatment in patients with decompensated hepatitis B cirrhosis: for whom and when?
J Hepatol. 2000 Aug;33(2):329-32.
Krinsky GA, Lee VS. MR imaging of cirrhotic nodules. Abdom Imaging. 2000 Sep-Oct;25(5):471-82.
Ito K, Mitchell DG. Hepatic morphologic changes in cirrhosis: MR imaging findings. Abdom Imaging. 2000 Sep-Oct;25(5):456-61.
Poynard T, Ratziu V, Benmanov Y, Di Martino V, Bedossa P, Opolon P. Fibrosis in patients with chronic hepatitis C: detection and significance.
Semin Liver Dis. 2000;20(1):47-55.
Alter HJ, Seeff LB. Recovery, persistence, and sequelae in hepatitis C virus infection: a perspective on long-term outcome. Semin Liver Dis.
2000;20(1):17-35.
Crosbie OM, Alexander GJ. Liver transplantation for hepatitis C virus related cirrhosis. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000
Apr;14(2):307-25.
Poynard T, Ratziu V, Benhamou Y, Opolon P, Cacoub P, Bedossa P. Natural history of HCV infection. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Apr;14(2):211-28.
Gogel BM, Goldstein RM, Kuhn JA, McCarty TM, Donahoe A, Glastad K. Diagnostic evaluation of hepatocellular carcinoma in a cirrhotic liver.
Oncology (Huntingt). 2000 Jun;14(6 Suppl 3):15-20.
Ferrell L. Liver pathology: cirrhosis, hepatitis, and primary liver tumors. Update and diagnostic problems.
Mod Pathol. 2000 Jun;13(6):679-704.
Rockey DC. Vasoactive agents in intrahepatic portal hypertension and fibrogenesis: implications for therapy.
Gastroenterology. 2000 Jun;118(6):1261-5.
Rockey DC. Hepatic fibrogenesis and hepatitis C. Semin Gastrointest Dis. 2000 Apr;11(2):69-83.
Marchesini G, Bianchi G, Rossi B, Brizi M, Melchionda N. Nutritional treatment with branched-chain amino acids in advanced liver cirrhosis.
J Gastroenterol. 2000;35 Suppl 12:7-12.
Zavaglia C, Airoldi A, Pinzello G. Antiviral therapy of HBV- and HCV-induced liver cirrhosis. J Clin Gastroenterol. 2000 Apr;30(3):234-41.
Fujimoto J. Gene therapy for liver cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Mar;15 Suppl:D33-6.
Okazaki I, Watanabe T, Hozawa S, Arai M, Maruyama K. Molecular mechanism of the reversibility of hepatic fibrosis: with special reference
to the role of matrix metalloproteinases. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Mar;15 Suppl:D26-32.
Butterworth RF. Complications of cirrhosis III. Hepatic encephalopathy. J Hepatol. 2000;32(1 Suppl):171-80.
Arroyo V, Jimenez W. Complications of cirrhosis. II. Renal and circulatory dysfunction. Lights and shadows in an important clinical problem.
J Hepatol. 2000;32(1 Suppl):157-70.
Bosch J, Garcia-Pagan JC. Complications of cirrhosis. I. Portal hypertension. J Hepatol. 2000;32(1 Suppl):141-56.
Brenner DA, Waterboer T, Choi SK, Lindquist JN, Stefanovic B, Burchardt E, Yamauchi M, Gillan A, Rippe RA. New aspects of hepatic fibrosis.
J Hepatol. 2000;32(1 Suppl):32-8.
Benyon RC, Iredale JP. Is liver fibrosis reversible? Gut. 2000 Apr;46(4):443-6.
Pinzani M, Gentilini P. Biology of hepatic stellate cells and their possible relevance in the pathogenesis of portal hypertension in cirrhosis.
Semin Liver Dis. 1999;19(4):397-410.
Bonino F, Oliveri F, Colombatto P, Coco B, Mura D, Realdi G, Brunetto MR. Treatment of patients with chronic hepatitis C and cirrhosis.
J Hepatol. 1999;31 Suppl 1:197-200.
Salerno F, Angeli P, Bernardi M, Laffi G, Riggio O, Salvagnini M. Clinical practice guidelines for the management of cirrhotic patients with
ascites. Committee on Ascites of the Italian Association for the Study of the Liver. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1999 Oct;31(7):626-34.
Navasa M, Fernandez J, Rodes J. Bacterial infections in liver cirrhosis. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1999 Oct;31(7):616-25.
Baffis V, Shrier I, Sherker AH, Szilagyi A. Use of interferon for prevention of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients with hepatitis B
or hepatitis C virus infection. Ann Intern Med. 1999 Nov 2;131(9):696-701.
Kok T, van der Jagt EJ, Haagsma EB, Bijleveld CM, Jansen PL, Boeve WJ. The value of Doppler ultrasound in cirrhosis and portal hypertension.
Scand J Gastroenterol Suppl. 1999;230:82-8.
Ruocco V, Psilogenis M, Lo Schiavo A, Wolf R. Dermatological manifestations of alcoholic cirrhosis. Clin Dermatol. 1999 Jul-Aug;17(4):463-8.
Lazaridis KN, Frank JW, Krowka MJ, Kamath PS. Hepatic hydrothorax: pathogenesis, diagnosis, and management.
Am J Med. 1999 Sep;107(3):262-7.
Blonde-Cynober F, Aussel C, Cynober L. Abnormalities in branched-chain amino acid metabolism in cirrhosis: influence of hormonal and
nutritional factors and directions for future research. Clin Nutr. 1999 Feb;18(1):5-13.
Li D, Friedman SL. Liver fibrogenesis and the role of hepatic stellate cells: new insights and prospects for therapy.
J Gastroenterol Hepatol. 1999 Jul;14(7):618-33.
Friedman SL. Cytokines and fibrogenesis. Semin Liver Dis. 1999;19(2):129-40.
Liu H, Lee SS. Cardiopulmonary dysfunction in cirrhosis.J Gastroenterol Hepatol. 1999 Jun;14(6):600-8.
Cabre E, Gassull MA. Feeding long-chain PUFA to advanced cirrhotics: is it worthwhile? Nutrition. 1999 Apr;15(4):322-4.
Laffi G, Marra F. Complications of cirrhosis: is endothelium guilty? J Hepatol. 1999 Mar;30(3):532-5.
FGADO - Cirrose Heptica
549
Doenas do Aparelho Digestivo
FGADO - Hipertenso Portal
551
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXVII
HIPERTENSO PORTAL
1. Etiopatognese
2. Colaterais Porto-Sistmicas
3. Avaliao Diagnstica
4. Histria Natural e Prognstico
5. Tratamento
551
Doenas do Aparelho Digestivo
A hipertenso portal uma sndrome clnica frequente, caracterizada pela elevao
patolgica da presso portal. Em condies normais a presso portal situa-se entre 5-
10 mmHg.
A elevao da presso na veia porta induz a formao de colaterais porto-sistmicas,
que desviam o sangue portal para a circulao sistmica. Este evento ocasiona vrios
distrbios hemodinmicos, com consequente aparecimento de complicaes da hiper-
tenso portal.
As principais consequncias da hipertenso portal so a rotura de varizes esofgicas
ou gstricas, a formao de ascite e a encefalopatia heptica.
1. ETIOPATOGNESE
A patognese da hipertenso portal envolve a interaco de vrios mecanismos, expli-
citados no grfico seguinte:
COMENTRIOS:
Da anlise deste grfico depreende-se que esto identificados trs mecanismos que
contribuem, em grau varivel, para o desenvolvimento da hipertenso portal:
A Resistncia intra-heptica
No fgado normal, a resistncia ao fluxo sanguneo da porta mnima, pelo que a
PRESSO PORTAL = FLUXO SANGUNEO X RESISTNCIA
Volmia
Vasodilatao
esplncnica
Dbito
Cardaco
Resistncia
intra-heptica
HIPERTENSO
PORTAL
Fluxo sanguneo
esplncnico
(= fluxo venoso
portal)
Resistncia
nas colaterais
FGADO - Hipertenso Portal
553
presso neste sistema permanece baixa (4-8 mmHg) apesar de amplas variaes di-
rias do fluxo. Nas sindromes portais hipertensivas, o aumento da resistncia ao fluxo
venoso portal pode ter uma localizao pr-heptica, ps-heptica ou intra-heptica.
Nas duas primeiras hipteses, ocorre uma obstruo ao influxo sanguneo portal ou
nas veias hepticas. Quando a resistncia intra-heptica, podem existir zonas pre-
ferenciais de obstruo: pr-sinusoidal, sinusoidal e/ou ps-sinusoidal. de acordo com
a localizao predominante da resistncia ao fluxo sanguneo, usual aceitar a
seguinte classificao etiolgica da hipertenso portal:
Doenas do Aparelho Digestivo
554
SINDROMES DE HIPERTENSO PORTAL PR-HEPTICA
Trombose da veia porta
Trombose da veia esplnica
Fstula arterio-venosa esplncnica
SINDROMES DE HIPERTENSO PORTAL INTRA-HEPTICA
Predominantemente pr-sinusoidal
Esquistossomase
Cirrose biliar primria
Hipertenso portal idioptica
Hiperplasia nodular regenerativa
Doenas mieloproliferativas
Doenas granulomatosas (sarcoidose)
Doena poliqustica
Predominantemente sinusoidal e/ou ps-sinusoidal
Cirrose heptica
Hepatite aguda e fulminante
Hepatite aguda alcolica
Peliose heptica
Doena veno-oclusiva
Sindrome de Budd-Chiari
SINDROMES DE HIPERTENSO PORTAL PS-HEPTICA
Obstruo da veia cava inferior
Insuficincia cardaca direita
Pericardite constritiva
Regurgitao na tricspide
ETIOLOGIA DA HIPERTENSO PORTAL
As alteraes morfolgicas que ocorrem nas doenas hepticas crnicas so indiscu-
tivelmente os factores mais importantes na determinao da resistncia intra-hepti-
ca. No entanto, alm desta obstruo mecnica (componente irreversvel), postula-se
actualmente a interveno complementar de factores funcionais que induziriam o
aumento do tnus vascular, semelhana do que sucede na hipertenso arterial. Este
componente reversvel, depende da actividade das clulas estreladas, estratgicamen-
te localizadas nos sinusides hepticos, e que constituem a fonte principal da snte-
se do colagnio. Estas clulas podem adquirir propriedades contrcteis, como os mio-
fibroblastos, porque quando activadas contm filamentos semelhantes actina e
expressam o gene da a actina do msculo liso. A regulao destas clulas depende-
ria da aco de produtos vasoactivos elaborados no endotlio vascular, designada-
mente a endotelina (vasocontritor) e o xido ntrico (vasodilatador). Na cirrose hep-
tica, por exemplo, existiria um dfice de produo do NO e um aumento da respos-
ta s endotelinas, fenmeno que induziria uma elevao acentuada do tnus vascu-
lar intra-heptico, que contribuiria para o aumento da resistncia ao fluxo sanguneo.
B Circulao hiperdinmica
Alm da elevao da resistncia heptica, ocorre na hipertenso portal uma situao
circulatria hiperdinmica, traduzida na elevao do dbito cardaco, diminuio da
resistncia vascular sistmica e aumento do fluxo sanguneo esplncnico. Os dois prin-
cipais mecanismos que contribuem para a circulao hiperdinmica so: a vasodilata-
o sistmica e a expanso do volume plasmtico.
A vasodilatao perifrica que caracteriza a hipertenso portal induzida por trs
mecanismos:
Aumento de vasodilatadores em circulao, designadamente a glucagina.
Aumento da produo endotelial de vasodilatadores locais, nomeadamente o
xido ntrico e prostaglandinas.
Diminuio da resposta a vasoconstritores.
Alm da vasodilatao perifrica, a expanso do volume plasmtico outro factor
principal na induo do estado de circulao hiperdinmica. Postula-se que a dilata-
o dos vasos sistmicos e esplncnicos induziria a reduo da volmia arterial cen-
tral, com subsequente activao compensatria dos sistemas renina-angiotensina-
aldosterona, do simptico e da vasopressina, de que resultaria reteno de sdio e
de gua e consequente expanso do volume plasmtico.
C Resistncia nas colaterais porto-sistmicas
As colaterais porto-sistmicas constituem um mecanismo de descompresso da hiper-
tenso portal. Contudo, a resistncia vascular deste leito colateral ainda maior do
que a resistncia no fgado normal. Podem contribuir, por isso, para o desenvolvimen-
to e manuteno da hipertenso portal. Pensa-se que o xido ntrico um dos facto-
res importantes no controlo da resistncia vascular porto-colateral.
FGADO - Hipertenso Portal
555
2. ZONAS ANATMICAS DE FORMAO DE COLATERAIS E DE HEMORRAGIA
Varizes
Os principais locais de formao espontnea de colaterais porto-sistmicas so:
Zonas de juno de epitlios escamosos e colunares. nestas zonas que se for-
mam as varizes esofagogstricas (juno esofagogstrica) e as varizes anorectais
(juno anorectal).
Recanalizao da veia umbilical que comunica com plexos para-umbilicais da pare-
de abdominal. Ocasionalmente a irradiao venosa a partir do umbigo assume o
aspecto em cabea de medusa.
No retroperitoneu, as veias das vsceras abdominais contactam a parede abdominal.
As colaterais retroperitoneais comunicam frequentemente com a veia renal esquer-
da.
Locais de cirurgia abdominal prvia ou de trauma intra-abdominal (por ex. varizes
em torno de colostomias ou ileostomias).
Outros locais do tracto gastro-intestinal: duodeno, leo, cego e recto.
Leses mucosas no varicosas
A gastropatia portal hipertensiva uma manifestao caracterstica da hipertenso
portal, caracterizada pela existncia de ectasias venosas e capilares na mucosa e sub-
mucosa do estmago, associadas a discreta actividade inflamatria. Esta leso tem
sido descrita, mais raramente, no clon e noutras reas do tubo digestivo. Pode apre-
sentar vrios graus de severidade, contribuindo em percentagens de 8-20% para
todos os casos de hemorragia aguda em doentes com hipertenso portal. tambm
uma importante fonte de perdas crnicas de sangue.
3. AVALIAO DIAGNSTICA
So os seguintes os mtodos de avaliao da hipertenso portal:
Doenas do Aparelho Digestivo
556
Avaliao no invasiva Sinais fsicos
Endoscopia digestiva
Ultra-sonografia com Doppler
Avaliao hemodinmica Gradiente de presso venosa heptica
Hemodinmica sistmica e pulmonar
Estudos hemodinmicos farmacolgicos Presso na variz
Fluxo sanguneo na azigos
Fluxo sanguneo heptico
Fluxo sanguneo renal
Ecoendoscopia
Outras tcnicas de imagem
MTODOS DE AVALIAO DA HIPERTENSO PORTAL
Avaliao Mtodos
SINAIS FSICOS
Esplenomeglia.
frequente, mas nem sempre presente. A nica consequncia da esplenomeglia o
hiperesplenismo, frequentemente com trombocitopenia e neutropenia. No contexto da
hipertenso com esplenomeglia, a citopenia pode ter outras causas: deficincia em
folato, hemorragia digestiva, hemlise ou toxicidade por frmacos. Pode ser fcilmen-
te diagnosticada por ecografia.
Circulao venosa colateral.
Pode ser visualizada na zona umbilical (caput medusae) e entre esta e o apndice
xifide, por vezes com um sopro audvel (sindrome de Cruveilhier-Baumgarten).
Estigmas de cirrose heptica (ictercia, aranhas vasculares, eritema palmar, fetor
hepaticus, encefalopatia, ascite, etc.).
Processos hemorroidrios.
AVALIAO ENDOSCPICA
Endoscopia digestiva alta.
essencial na avaliao da hipertenso portal. Pode detectar as trs principais leses
responsveis por hemorragia gastro-esofgica na hipertenso portal: varizes gastro-
esofgicas, gastropatia hipertensiva e ectasias vasculares antrais. A presena de vari-
zes esofgicas considerada patognomnica de hipertenso portal. A dimenso das
varizes e a existncia de anomalias nas suas paredes so considerados factores pre-
dizentes de risco de hemorragia.
Ecoendoscopia.
Pode ser til na definio das varizes gstricas, e de veias peri-esofgicas e peri-gs-
tricas. Tambm pode visualizar veias perfurantes e a veia zigos. Pode constituir um
precioso auxiliar na teraputica endoscpica.
AVALIAO HEMODINMICA
Estudo da presso venosa portal e heptica.
A mensurao do gradiente de presso portal (diferena entre a presso venosa por-
tal e a veia cava inferior) utilizada para definir a presena de hipertenso portal. No
indivduo normal em repouso e em jejum, a presso portal situa-se entre 5-10 mmHg
e o gradiente de presso est abaixo de 5 mmHg. Actualmente, o mtodo mais reco-
FGADO - Hipertenso Portal
557
mendado a obteno do registo de presses mediante a cateterizao da jugular
interna, da femural ou da humeral, com anestesia local. Sob controlo fluoroscpico, o
catter avanado at uma veia heptica, registando-se a presso aps a ocluso de
uma pequena vnula heptica (presso venosa heptica bloqueada ou ocluda).
Retira-se seguidamente o catter, cerca de 5 cm, para uma posio livre, e regista-se
de novo o valor da presso. A diferena entre esses dois valores tensionais correspon-
de ao gradiente de presso venosa heptica, que em condies normais se situa entre
1-4 mmHg. Em doentes com cirrose, esse gradiente encontra-se elevado, situando-se
usualmente entre 8-30 mmHg. Estudos recentes sublinharam o valor prognstico da
mensurao deste gradiente no doente cirrtico, considerando-se que um factor
independente de risco de hemorragia e mortalidade. Para muitos autores, valores
desse gradiente inferiores a 12 mmHg indicam que o risco de rotura de varizes dimi-
nuto.
Estudo da presso na variz.
Pode avaliar-se por puno directa (mtodo agressivo e com risco), ou mediante dis-
positivos pneumticos adaptados parede da variz e conectados a um equipamento
manomtrico. Este ltimo um mtodo promissor, se bem que ainda em fase experi-
mental.
Hemodinmica sistmica e pulmonar.
Em certos casos til a mensurao do dbito cardaco e das presses pulmonares,
mediante a utilizao de um catter de Swan-ganz. O diagnstico de hipertenso arte-
rial pulmonar, uma possvel complicao da hipertenso portal, necessita deste estu-
do hemodinmico.
Estudo do fluxo na veia zigos.
o melhor mtodo hemodinmico para avaliar a circulao colateral porto-sistmica
superior. Utiliza-se designadamente na avaliao dos efeitos da teraputica farmaco-
lgica, mediante mtodos de termodiluio contnua.
SONOGRAFIA DOPPLER
Trata-se de um exame de grande valimento no contexto da hipertenso portal, sendo
utilizado com trs finalidades principais:
Diagnstico da hipertenso portal.
Possibilita o estudo do calibre da veia porta, direco do fluxo, anlise da mesent-
rica superior e das veias esplnicas, deteco de colaterais e respectivo fluxo, e ava-
liao quantitativa da veia porta (velocidade mdia e volume do fluxo portal, ndice
de congesto).
Doenas do Aparelho Digestivo
558
Definio da causa da hipertenso portal.
Pode ter um importante papel na identificao da localizao e natureza da obstru-
o: extra-heptica, intra-heptica ou supra-heptica.
Estudo das complicaes da hipertenso portal.
Tem sido documentado o seu interesse na avaliao do risco de primeira hemorragia
por rotura de varizes, e tambm de recorrncia hemorrgica.
COMENTRIOS
Actualmente considera-se clinicamente significativa a hipertenso portal definida pelo
aumento do gradiente de presso portal acima de 10 mmHg.
Tambm se considera clinicamente significativa a hipertenso portal associada a vari-
zes, hemorragia por varizes e/ou ascite.
Todos os doentes com cirrose heptica devem ser submetidos a exame endoscpico
para pesquisa de varizes.
So considerados indicadores fiveis de hipertenso portal clinicamente significativa,
a mensurao do gradiente tensional portal e a avaliao endoscpica das varizes
esofagogstricas.
No doente compensado sem varizes, deve realizar-se exame endoscpico com inter-
valos de 2-3 anos, para avaliar o desenvolvimento das varizes.
No doente compensado com varizes pequenas, a endoscopia deve realizar-se com
intervalos de 1-2 anos para estudar a sua progresso.
A mensurao do gradiente de presso venosa heptica o nico parmetro presen-
temente fivel para monitorizar tratamentos farmacolgicos.
Consideram-se promissores os estudos da medio da presso na variz e os dados
da sonografia Doppler.
4. HISTRIA NATURAL E PROGNSTICO DA HEMORRAGIA POR VARIZES
DETERMINANTES DO EPISDIO HEMORRGICO
No se encontram ainda totalmente esclarecidos os mecanismos que determinam a
rotura de varizes esofgicas. A hiptese da corroso pelo refluxo de suco gstrico,
inicialmente defendida, deu lugar teoria da exploso, segundo a qual o evento
FGADO - Hipertenso Portal
559
chave o aumento na tenso da parede elstica da variz at um nvel crtico que con-
diciona a rotura explosiva do vaso. A tenso da parede (T) numa variz varia em fun-
o da presso transmural (PT), do raio do vaso (r) e da espessura da parede (e), de
acordo com a conhecida lei de Laplace:
T=PT x r/e
A tenso da parede T resiste fora expansora PT x r/e, mas quando esta excede
aquela, a rotura ocorre.
Os estudos at agora realizados, indicam que os factores a seguir descriminados so,
Doenas do Aparelho Digestivo
560
Factores locais
Dimenso e localizao das varizes
Espessura da parede da variz
Presena de sinais vermelhos no rolho varicoso: estrias, mculas e hematocistos
Factores hemodinmicos
Gradiente de presso venosa portal > 12 mmHg
Presso na variz
Volmia (?)
Fluxo sanguneo colateral (?)
Presso intra-abdominal (?)
Severidade da doena (grau de Child)
Outros
Salicilatos e AINEs
Consumo de lcool (?)
DETERMINANTES DA ROTURA DE VARIZES
com maior ou menor certeza, determinantes na rotura da variz:
Relativamente s varizes gstricas, quer isoladas ou em continuidade com as varizes
esofgicas, evidenciam um risco particularmente elevado de rotura.
Nos doentes com gastropatia portal hipertensiva, a hemorragia ocorre mais frequen-
temente nas formas severas. Apontam-se estimativas de 35% de hemorragias crni-
cas ou discretas em doentes com gastropatia moderada, versus 90% nos que pade-
cem de gastropatia severa. Nestes, a hemorragia pode ser aguda em 60% dos casos.
HISTRIA NATURAL DA HEMORRAGIA POR VARIZES
As varizes gastroesofgicas desenvolvem-se em 50-60% dos doentes com cirrose, e
em cerca de 30% destes doentes ocorre um episdio de hemorragia por rotura de
varizes dentro de 2 anos aps o diagnstico.
O maior risco de um episdio hemorrgico inicial acontece dentro de 6-12 meses aps
a descoberta das varizes. Aps este perodo, se o doente no sangrou, o risco hemor-
rgico tende a diminuir.
Aps um episdio de rotura de varizes, o risco de recorrncia hemorrgica particu-
larmente elevado cerca de 60-70% ao longo de um perodo de 24 meses. O risco
de recorrncia maior, no entanto, dentro de horas ou dias aps o episdio index.
Esse risco de recidiva hemorrgica precoce aumenta com os seguintes factores: vari-
zes gstricas, trombocitopenia, encefalopatia, cirrose alcolica, varizes de grandes
dimenses, hemorragia activa no acto da endoscopia e elevado gradiente de presso
venosa portal.
A hemorragia por rotura de varizes a mais sria complicao da hipertenso portal,
sendo responsvel por cerca de um quinto a um tero de todas as mortes dos doen-
tes cirrticos.
A mortalidade aps um episdio agudo situa-se entre 40-70% em vrias sries, com
uma mdia de aproximadamente 50% dentro de 6 semanas.
O factor mais determinante de sobrevida o grau de insuficincia heptica.
O prognstico associado hemorragia por varizes geralmente muito melhor nos
doentes com boa funo heptica, designadamente nos que padecem de trombose da
veia porta ou de hipertenso portal idioptica.
No doente cirrtico, o prognstico mais reservado na presena de hepatite alcoli-
ca concomitante, carcinoma hepatocelular ou trombose da veia porta.
5. TRATAMENTO DA HEMORRAGIA POR ROTURA DE VARIZES ESOFGICAS
A Fundamentos e opes teraputicas
Os fundamentos para os diferentes tratamentos opcionais da hemorragia por varizes,
encontram-se esquematizados no grfico seguinte:
FGADO - Hipertenso Portal
561
COMENTRIOS
Os objectivos essenciais no tratamento da hipertenso portal so a preveno prim-
ria, tendo em vista evitar a rotura de varizes ou mesmo, se possvel, a sua formao
(preveno pr-primria); o tratamento do episdio agudo; e a preveno de recor-
rncia hemorrgica (preveno secundria).
Para a consecuo desses objectivos dispomos actualmente de vrias armas terapu-
ticas, que actuam preferencialmente em determinados mecanismos que conduzem
hipertenso portal, como se explicita no quadro acima resumido.
Essas alternativas teraputicas, utilizadas isoladamente ou em associao, so as
seguintes: farmacoterpia, teraputica endoscpica, TIPS (transjugular intrahepatic
portosystemic shunt) ou cirurgia.
TIPS
Cirurgia
Vasodilatador
Resistncia
intra-heptica
Resistncia
arteriolar
Vasoconstritor
esplncnico
Esplncnica Sistmica
influxo
portal
Gradiente
da
presso portal
Varizes e
rotura de
varizes
Hipotenso
Volume
efectivo
Activao de
sistemas
neurohumorais
Diurticos
Reteno de
sdio e gua
Cirurgia
Laqueao
elstica
Escleroterpia
CIRROSE
Doenas do Aparelho Digestivo
562
Analisemos sumariamente as potencialidades destas opes teraputicas, antes da
apresentao das recomendaes prticas finais, relativamente aos objectivos acima
definidos.
A Farmacoterpia
A utilizao de frmacos tem em vista a reduo da resistncia intra-heptica e/ou a
diminuio do influxo venoso portal.
Reduo da resistncia intra-heptica.
O componente vascular reversvel sobretudo resultante do dfice de xido ntrico
(NO) na microcirculao heptica. No entanto, como j foi sublinhado neste texto, joga
tambm um papel importante o aumento da sensibilidade a vasoconstritores endge-
nos. No admira, por isso, que se tenham experimentado frmacos vasodilatadores
que libertam o NO na circulao intra-heptica (por ex. nitratos) e drogas que blo-
queiam a actividade adrenrgica (por ex. prazosina, clonidina) ou que bloqueiam a
angiotensina (por ex. captopril, losartan, irbesartan), no intuito de reduzir a presso
portal. Embora os resultados no animal de experincia, e mesmo no homem, tenham
sido promissores, existem srias limitaes neste tipo de frmacos. Infelizmente, os
veno-dilatadores actuam no s na circulao intra-heptica, como seria ideal, mas
exercem tambm efeito vasodilatador sistmico e na circulao porto-colateral, com
quadros sintomticos de hipotenso. Relativamente aos bloqueadores adrenrgicos,
podem induzir reteno de sdio, ascite e edema. Os inibidores da angiotensina
podem diminuir a clearance da creatinina.
Correco do aumento do influxo portal.
A teraputica farmacolgica que visa este objectivo, baseia-se na utilizao de vaso-
constritores esplncnicos, designadamente os bloqueadores b-adrenrgicos, a soma-
tostatina e o octretido, que reduzem de forma significativa o gradiente de presso
portal. Uns utilizam-se no contexto da preveno, e outros no episdio hemorrgico
agudo.
Os bloqueadores b-adrenrgicos reduzem o fluxo venoso portal por dois mecanis-
mos: diminuio do dbito cardaco (mediante o bloqueio dos receptores 1) e
vasoconstrio esplncnica (bloqueio dos receptores b2). Os bloqueadores -adre-
nrgicos no selectivos, designadamente o propanolol, o nadolol e o timolol, uti-
lizam-se na prevano primria ou secundria. Estudos recentes apontam ainda a
sua eventual utilidade na preveno pr-primria, no sentido de evitar o desenvol-
vimento de varizes.
A somatostatina e o seu anlogo sinttico, o octretido, induzem vasoconstrio
esplncnica e reduo transitria da presso portal quando administrados por via
parenteral. Um efeito tambm comprovado a reduo da hipermia ps-prandial,
que pode ser induzida tambm pela existncia de sangue no estmago. Estes fr-
FGADO - Hipertenso Portal
563
macos so utilizados essencialmente no episdio agudo, com a finalidade de pre-
venirem a recidiva hemorrgica precoce, muito frequente.
Tem sido advogada e experimentada a associao de vasodilatadores aos b-blo-
queantes. Foi demonstrado que a adio de nitratos ao propanolol, aumenta o
efeito deste, no tocante reduo do gradiente de presso portal.
Um regime pobre em sal associado espironolactona, pode reduzir a presso por-
tal. No entanto, esta teraputica tem sido associada a um incremento da activida-
de plasmtica da renina, indicadora de reduo no volume sanguneo efectivo,
potencialmente deletria.
B Teraputica endoscpica
Enquanto que a farmacoterpia tem em vista a reduo do gradiente de presso por-
tal, a teraputica endoscpica visa controlar e obliterar as varizes. Dispomos actual-
mente de duas tcnicas endoscpicas de tratamento: a escleroterpia e a laqueao.
A primeira consiste na injeco de um agente esclerosante na variz ou sua volta,
com o objectivo de provocar trombose da variz e/ou inflamao no tecido circundan-
te. A laqueao endoscpica consiste na colocao de anis elsticos nos cordes
varicosos, com o intuito de interromper o fluxo venoso e subsequente desenvolvimen-
to de necrose da mucosa e submucosa, com cicatrizao posterior.
A teraputica endoscpica actua localmente, no tendo influncia nos mecanismos
patofisiolgicos que conduzem hipertenso portal e rotura de varizes. Estas
podem eventualmente reaparecer aps o tratamento.
C Shunts porto-sistmicos
Pode corrigir-se a hipertenso portal pela criao de uma comunicao entre o siste-
ma porta hipertenso e um sistema venoso de baixa presso, evitando deste modo o
fgado, o local da resistncia aumentada.
Esta comunicao pode ser criada cirrgicamente ou pelo colocao de uma prtese
intra-heptica (TIPS). Os shunts porto-sistmicos so usualmente utilizados em situa-
o de recurso, aps a falncia da farmacoterpia e da teraputica endoscpica.
B RECOMENDAES PRTICAS
No quadro seguinte esto resumidas as propostas actualmente advogadas no trata-
mento dos vrios cenrios da hemorragia por varizes:
Doenas do Aparelho Digestivo
564
COMENTRIOS
1 Profilaxia pr-primria
Encontra-se em fase de investigao a teraputica profilctica com b-bloqueantes.
Todos os doentes com cirrose devem ser submetidos a exame endoscpico para
rastreio de varizes.
As varizes pequenas sem sinais vermelhos evidenciam um risco de recidiva < 10%.
Este tipo de varizes raramente regride, embora possa ocorrer esse evento com abs-
tinncia alcolica e melhoria da funo heptica.
2 Profilaxia primria
Baseia-se na administrao de propanolol ou nadolol.
A dose de propanolol deve ser individualizada. Inicia-se com 20 mgr cada 12 horas,
aumentando ou diminundo a dose cada 3-4 dias, at que o ritmo cardaco se redu-
za em cerca de 25%, no permitindo ritmos abaixo de 55/minuto ou valores de
presso sistlica < 90 mmHg. A dose mdia administrada usualmente de 80
mgr/dia (40 mgr 2id). A dose do nadolol, administrada uma vez por dia, metade
da do propanolol.
O propanolol est contra-indicado em doentes com asma, doena obstrutiva pul-
monar crnica, estenose artica, bloqueio A-V, claudicao intermitente e psicose.
Contra-indicaes relativas: diabetes mellitus e bradicardia sinusal.
Efeitos adversos do propanolol em administrao prolongada ( 15%): dispneia de
esforo, espasmo brnquico, insnia, fadiga, impotncia e apatia.
FGADO - Hipertenso Portal
565
INDICAO TERAPUTICA TERAPUTICA TERAPUTICA TERAPUTICA
1 Linha 2 Linha 3 Linha Em avaliao
Profilaxia pr-primria -bloqueantes
no selectivos
Profilaxia primria -bloqueantes Laqueao -bloqueantes
no selectivos endoscpica? +
nitratos.
Laqueao
Episdio agudo Teraputica TIPS/cirurgia Tamponamento
endoscpica com balo
+ farmacoterpia
Preveno secundria -bloqueantes ou Laqueao TIPS/cirurgia -bloqueantes
laqueao + farmacoterpia +
(-bloqueantes nitratos
nitratos)
O tratamento com propanolol ou nadolol reduz em 50% o risco de primeira hemor-
ragia, e portanto o risco de morte.
Todos os doentes cirrticos com varizes so potenciais candidatos ao tratamento
profilctico. O tratamento mandatrio em doentes com varizes grandes e com
graus B ou C de Child. Essa teraputica deve ser mantida indefinidamente.
Nos doentes com contra-indicaes aos b-bloqueantes, comea a dvogar-se o
recurso laqueao endoscpica.
No h dados consistentes que suportem a teraputica combinada na profilaxia
primria.
No h necessidade de controlos endoscpicos regulares em doentes sob terapu-
tica farmacolgica.
O shunt cirrgico ou o TIPS no tm indicao na profilaxia primria.
3 Episdio agudo
a abordagem inicial
A ressuscitao do doente uma medida crucial, envolvendo:
Estabelecimento de um adequado acesso venoso para reposio de sangue e flui-
dos.
Sonda nasogstrica para avaliar a severidade da hemorragia e lavar o estmago
(para exame endoscpico).
Tratar deficincias da coagulao com plasma fresco, se indicado.
Administrar sangue para estabilizao hemodinmica. Precauo em no induzir
hipervolmia, que acentua o risco de recidiva hemorrgica.
Proteco das vias areas em doentes com hemorragia macia ou evidncia de
encefalopatia heptica. Preveno desta complicao com lactulose.
Iniciar antibioterpia em doentes potencialmente spticos, aps a obteno de
sangue para culturas ou de paracentese diagnstica.
O exame endoscpico deve ser realizado logo que o doente se encontre estabilizado
(idealmente dentro de 6-12 horas aps admisso), especialmente em doentes com
hemorragia significativa e com sinais sugestivos de cirrose heptica. Nestes casos,
aconselha-se a administrao precoce de frmacos vasoactivos (por ex. octretido).
b teraputica endoscpica
Em cerca de 90% dos episdios agudos a escleroterpia consegue suster a hemorra-
gia. Se houver recidiva ou hemorragia persistente, deve tentar-se uma segunda ses-
so de escleroterpia. Nos doentes que continuam a sangrar aps duas sesses de
Doenas do Aparelho Digestivo
566
escleroterpia, devemos considerar outras alternativas teraputicas.
A seleco do agente esclerosante tem escassa influncia na eficcia da escleroter-
pia.
Em 10-20% dos doentes reportam-se complicaes srias deste mtodo, com uma
mortalidade associada de cerca de 2%. Complicaes descritas: ulcerao, perfurao,
mediastinite, complicaes pulmonares e disfagia.
A laqueao endoscpica tem uma taxa de sucesso comparvel escleroterpia, com
menos efeitos secundrios. Utilizao tcnicamente mais difcil em doentes com
hemorragias intensas.
c teraputica farmacolgica
O uso de frmacos vasoactivos no tratamento do episdio agudo tem vrias vanta-
gens:
Pode ser iniciado na urgncia hospitalar.
Ao contrrio da escleroterpia ou laqueao, baixam a presso portal.
A administrao antes do acto endoscpico pode faciliar a inspeco e a terapu-
tica endoscpica.
Podem ser praticularmente teis nas varizes gstricas e na gastropatia hipertensi-
va.
Os agentes farmacolgicos correntemente disponveis so a vasopressina, a nitrogli-
cerina, a terlipressina, a somatostatina e o seu anlogo, o octretido. Este anlogo
sinttico, com um tempo de semi-vida superior somatostatina, correntemente uti-
lizado em muitos centros de referncia. Utiliza-se por via endovenosa, num bolus ini-
cial de 50 g seguido de 50 mg/hora, durante 5 dias.
H evidncia clnica do benefcio da combinao de teraputica endoscpica com far-
macoterpia: menor incidncia de recidiva precoce e menor consumo de unidades de
sangue.
d tamponamento com balo
Pode ser til como medida temporria aps falncia das teraputicas endoscpica e
farmacolgica, enquanto se aguarda uma alternativa teraputica para controlo da
hemorragia (TIPS ou cirurgia).
Pode ser suficiente a insuflao do balo gstrico, evitando as complicaes adicio-
nais do balo esofgico.
As complicaes ocorridas dependem sobretudo da experincia da equipa que trata
este tipo de situaes.
FGADO - Hipertenso Portal
567
e tratamento da falncia da teraputica mdica
Numa recente conferncia de consenso, concluiu-se pela validade da utilizao do
TIPS na hemorragia aguda por rotura de varizes, nos 10-20% de casos onde falha a
teraputica endoscpica e farmacolgica.
Em centros experientes, a colocao de um TIPS bem sucedida em 90-95% dos
doentes, com mortalidade imediata relativamente baixa em comparao com a utili-
zao dos shunts cirrgicos.
A recorrncia hemorrgica e/ou encefalopatia heptica so complicaes do processo
a mdio prazo.
Embora a experincia cirrgica seja gratificante nalguns centros, a realizao de um
shunt cirrgico porto-sistmico no geralmente recomendado num cenrio de epi-
sdio agudo. As intervenes de desvascularizao (transseco ou Sugiura) so mais
aceites.
O tratamento da hemorragia activa por rotura de varizes, pode esquematizar-se da
seguinte forma:
HEMORRAGIA ACTIVA POR VARIZES
Tratamento endoscpico + frmacos vasoactivos
Hemorragia persiste
ou recorre
Child-Pugh
Hemorragia
cessa
Doente de
alto risco
Doente de
risco normal
A B + C
TIPS Veia porta
Laqueao
Laqueao
vs
farmacoterpia
vs
shunt cirrgico
TIPS
Transplantao
Permevel Ocluda
Shunt cirrgico
vs
TIPS
Transeco
Sugiura
Recorrncia
Doenas do Aparelho Digestivo
568
4 Preveno secundria
Dada a elevada recorrncia aps o controlo da hemorragia inicial, recomenda-se que
o doente seja submetido a medidas de teraputica preventiva.
O perodo de maior risco de recidiva situa-se nos primeiros seis meses e especialmen-
te nas primeiras semanas aps o episdio index.
fundamental que essa teraputica de preveno se inicie logo que o episdio
hemorrgico agudo tenha sido adequadamente controlado.
No mbito da preveno secundria, so quatro as opes possveis: teraputica
endoscpica, farmacoterpia, TIPS, cirurgia.
a teraputica endoscpica
A laqueao elstica tem substitudo paulatinamente a escleroterpia na preveno de
recorrncia hemorrgica. Propocia menor incidncia de recidiva, mortalidade e compli-
caes, e requer menos sesses para a obliterao das varizes.
A combinao dos dois mtodos no tem aparentemente vantagem.
b teraputica farmacolgica
indiscutvel o benefcio da utilizao permanente do propanolol ou do nadolol na
preveno secundria, na medida em que reduz o risco de recidiva e mortalidade.
Esta teraputica est indicada em doentes com boa funo heptica (graus A e B de
Child), sem contra-indicaes e que aderem prescrio do frmaco.
As doses receomendadas e a monitorizao so idnticas s indicadas na profilaxia
primria.
Estudos recentes evidenciam o benefcio da associao da teraputica endoscpica
farmacoterpia.
Se a teraputica com -bloqueantes no surte efeito ( o melhor indicador da eficcia
a mensurao do gradiente de presso portal, que deve situar-se abaixo de 12
mmHg com a medicao instituda), deve tentar-se uma associao farmacolgica com
nitratos.
Na vigncia de contra-indicaes aos -bloqueantes, a melhor alternativa a laquea-
o elstica. Outra alternativa, ainda que no suficientemente testada, a administra-
o prolongada de nitratos.
FGADO - Hipertenso Portal
569
c TIPS
Actualmente est reservado para a falncia da teraputica mdica, excepto em doen-
tes seleccionados que aguardam transplantao heptica. prefervel ao shunt cirr-
gico nos doentes de alto risco.
d cirurgia
Nos doentes de baixo risco (Child A), o shunt cirrgico continua a ser uma alternati-
va atractiva, na vigncia de fal~encia do tratamento mdico, se bem que o TIPS seja
igualmente uma opo vlida.
A transplantao heptica deve ser sempre considerada nos doentes com formas
avanadas de cirrose. Nos doentes candidatos a transplantao, a colocao de um
TIPS ou um shunt esplenorenal distal so preferveis realizao de um shunt porto-
sistmico, para preservao da anatomia cirrgica.
5 Varizes gstricas e gastropatia hipertensiva portal
As varizes gstricas que se estendem mais de 5 cm abaixo da juno gastro-esofgi-
ca, ou se encontram isoladas na zona fndica, apresentam alto risco de sangrar.
A escleroterpia ou a laqueao elstica so pouco eficazes no controlo da hemorra-
gia aguda por varizes gstricas, ou na preveno da recidiva.
Trabalhos recentes evidenciam que a injeco de trombina ou de cianoacrilato confe-
rem melhores resultados do que os agentes esclerosantes tradicionais.
A teraputica farmacolgica est particularmente aconselhada nestas situaes, seja
num cenrio de hemorragia aguda, seja a ttulo preventivo.
Nos doentes onde a teraputica farmacolgica falha, h que ponderar a colocao de
TIPS, o shunt cirrgico ou a transplantao.
No tocante gastropatia hipertensiva, a nica opo teraputica mdica o tratamen-
to farmacolgico. A teraputica endoscpica no tem aqui qualquer benefcio.
Nas situaes, felizmente pouco comuns, onde falha a teraputica farmacolgica, colo-
cam-se as alternativas do TIPS, shunt cirrgico ou transplantao heptica.
Doenas do Aparelho Digestivo
570
FGADO - Hipertenso Portal
571
REFERNCIAS
Groszmann RJ, de Franchis R. Portal hypertension. In: Schiff R, Sorrell MF, Maddrey WC (Eds.) Schiffs Diseases of the Liver (8 Ed.).
Lippincott-Raven 1999:387-442
Sanyal J. Gastroesophageal varices: pathophysiology and prevention of bleeding. In: Bacon BR, DiBisceglie AM (Eds.). Liver Disease.
Diagnosis and Management. Churchill Livingstone 2000:229-237.
Petruff CA, Chopra S. Cirrhosis and portal hypertension: an overview. In: Friedman LS, Keeffe EB (Eds.). Handbook of Liver Disease.
Churchill Livingstone 1998:125-138.
Jensen JE, Groszmann RJ. Pathohysiology of portal hypertension. In: Kaplowitz N (Ed.). Liver and Biliary Diseases.
Williams & Wilkins 1992:494-504.
Pinzani M. Stellate cells: do they have a role in portal hypertension? In: De Franchis E (Ed.). Portal Hypertension.
Blackwell Science 2001:22-35.
DAmico G, Garcia-Tsao G, Cals P et al. Diagnosis of portal hypertension: how and when. In: De Franchis E (Ed.). Portal Hypertension.
Blackwell Science 2001:36-64.
Primignani M, Carpinelli L, Sarin S et al. Portal hypertensive gastropathy. In: De Franchis E (Ed.). Portal Hypertension.
Blackwell Science 2001:65-75.
Sarin SK, Primignani M, Agarwal SR. Gastric varices. In: De Franchis E (Ed.). Portal Hypertension. Blackwell Science 2001:76-96.
Merkel C, Escorsell A, Sieber CC et al. Preprimary prophylaxis: can (and should) we prevent the formation and growth of varices?
In: De Franchis E (Ed.). Portal Hypertension. Blackwell Science 2001:97-111.
Schuppan D, Chojj, Koda M et al. Antifibrotic therapy: future cure of portal hypertension? In: De Franchis E (Ed.).
Portal Hypertension. Blackwell Science 2001:112-126.
Garcia-Pagn JC, Grace ND. Primary prophylaxis. In: De Franchis E (Ed.). Portal Hypertension. Blackwell Science 2001:127-133.
Laine LA Burroughs AK, Silvain C et al. Treatment of the acute bleeding episode. In: De Franchis E (Ed.).
Portal Hypertension. Blackwell Science 2001:134-155.
Laine LA. Endoscopic treatment of acute or active variceal bleeding. In: De Franchis E (Ed.).
Portal Hypertension. Blackwell Science 2001:156-160.
Vinel JP. TIPS and surgery in the management of acute variceal bleeding. In: De Franchis E (Ed.).
Portal Hypertension. Blackwell Science 2001:161-169.
Lebrec D, Stiegmann GV. Prevention of recurrent variceal haemorrhage (secondary prophylaxis). In: De Franchis E (Ed.).
Portal Hypertension. Blackwell Science 2001:170-179.
Bolognesi M, Balducci G, Garcia-Tsao G et al. Complications in the medical treatment of portal hypertension. In: De Franchis E (Ed.).
Portal Hypertension. Blackwell Science 2001:180-203.
Bosch J, Groszmann RJ (Eds.). Portal Hypertension. Pathophysiology and Treatment. Blackwell Scient. Publ. 1994.
Gupta TK, Chen L, Groszmann RJ. Pathophysiology of portal hypertension. Ballires Clin Gastroenterol 1997;11(2):203-220.
Lebrec D, Sogni P, Vilgrain V. Evaluation of patients with portal hypertension. Ballires Clin Gastroenterol 1997;11(2):221-242.
DAmico G, Luca A. Natural history. Clinical-haemodynamic correlations. Prediction of the risk of bleeding.
Ballires Clin Gastroenterol 1997;11(2):243-256.
Piqu JM. Portal hypertensive gastropathy. Ballires Clin Gastroenterol 1997;11(2):257-270.
Garcia-Pagn JC, Bosch J. Pharmacological prevention of variceal bleeding. New developments. Ballires Clin Gastroenterol 1997;11(2):271-288.
De Franchis R, Primignani M. Endoscopic treatments for portal hypertension. Ballires Clin Gastroenterol 1997;11(2):289-310.
Patch D, Burroughs AK. Advances in drug therapy for acute variceal haemorrhage. Ballires Clin Gastroenterol 1997;11(2):311-326.
Kamath PS, McKusick MA. Transjugular intrahepatic portosystemic shunts (TIPS). Ballires Clin Gastroenterol 1997;11(2):327-350.
Iannitti DA, Henderson M. Surgery in portal hypertension. Ballires Clin Gastroenterol 1997;11(2):351-364.
Escorsell A, Garcia-Pagn JC, Bosch J. Assessment of portal hypertension in humans. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):575-590.
Garcia N, Sanyal AJ. Laboratory assessment of hepatic hemodynamics. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):591-616.
Menon KVN, Kamath PS. Regional and systemic hemodynamic disturbances in cirrhosis. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):617-628.
Shah V. Cellular and molecular basis of portal hypertension. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):629-644.
De Franchis R, Primignani M. Natural history of portal hypertension in patients with cirrhosis. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):645-664.
Lowe C, Grace ND. Management of portal hypertension before variceal hemorrhage occurs. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):665-676.
Luketic VA. Management of portal hypertension after variceal hemorrhage. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):677-708.
Henderson JM. Salvage therapies for refractory variceal hemorrhage. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):709-726.
Sarin S, Agarwal SR. Gastric varices and portal hypertensive gastropathy. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):727-768.
Rockey DC. Gene therapy and other future directions in the management of portal hypertension. Clinics in Liver Dis 2001;5(3):851-866.
Slosberg EA, Keefe EB. Sclerotherapy versus banding in the treatment of variceal bleeding. Clinics in Liver Dis 1997;1(1):77-84.
Sudan DL, Shaw BW. The role of liver transplantation in the management of portal hypertension. Clinics in Liver Dis 1997;1(1):115-120.
Hillaire S, Valla D, Lebrec D. Noncirrhotic portal hypetension. Clinics in Liver Dis 1997;1(1):223-240.
Roberts LR, Kamath PS. Pathophysiology of variceal bleeding. Gastroint Endosc Clin N Amer 1999;9(2):167-174.
Nader A, Grace ND. Pharmacologic intervention during the acute bleeding episode. Gastroint Endosc Clin N Amer 1999;9(2):287-300.
Nader A, Grace ND. Pharmacological prevention of rebleeding. Gastroint Endosc Clin N Amer 1999;9(2):301-310.
Garcia-Tsao G. Current management of the complications of cirrhosis and portal hypetension: variceal hemorrhage, ascites, and spontaneous
bacterial peritonitis. Gastroenterology 2001;120(3):726-748.
Gross M, Schiemann U, Mhlhfer A et al. Meta-analysis: efficacy of therapeutic regimens in ongoing variceal bleeding.
Endoscopy 2001;33(9):737-746.
Freitas D, Donato A, Goulo MH, Gouveia Monteiro J. Escleroterpia fibroendoscpica das varizes esofgicas. Rev.
Gastroenterol 1983;1(2):61-72.
Alexandrino PT, Alves MN, Correia JP. Propanolol or endoscopic sclerotherapy in the prevention of recurrence of variceal bleeding.
A prospective randomised control trial. J Hepatology 1998;7:175-185.
Pina Cabral JE, Portela F, Freitas D et al. Leses gstricas difusas na hipertenso portal. Rev. Gastrenterol 1993;X(49):141-150.
Ministro P, Rosa A, Freitas D et al. Laqueao endoscpica de varizes esofgicas na preveno da recidiva hemorrgica.
Rev. Gastrenterol 1993;XII(62):258-266.
Pontes JM, Leito MC, Portela FA, Freitas D et al. Endoscopic ultrasonography in the treatment of oesophageal varices by endoscopic
sclerotherapy and band ligation; do we need it? European J Gastroenterol & Hepatol 1995;7:41-46.
Freitas D, Sofia C, Gregrio C et al. O octretido nas hemorragias agudas por varizes esofgicas. GE J Port Gastrenterol 1995;2:1-8.
Freitas D, Sofia C (Eds.). Hemorragias digestivas altas. Permanyer Portugal 1997.
Freitas D, Sofia C, Pontes JM et al. Octreotide in acute bleeding esophageal varices: a prospective randomised study.
Hepato-Gastroenterol 2000;47:1310-1314.
Maoas F, Rosa A, Freitas D et al. Esubucrilato (Histoacryl) mtodo eficaz e seguro na hemorragia aguda por varizes esofgicas e gstricas.
GE J Port Gastroenterol 2001;8(3):184-190.
Freitas D. Hipertenso portal. In: Freitas D (Ed.). Temas de Gastrenterologia (2 vol.) 1986:47-66.
Boyer TD. Pharmacologic treatment of portal hypertension: past, present, and future. Hepatology. 2001 Oct;34(4 Pt 1):834-9.
Sharara AI, Rockey DC. Gastroesophageal variceal hemorrhage. N Engl J Med. 2001 Aug 30;345(9):669-81.
Lebrec D. Drug therapy for portal hypertension. Gut. 2001 Sep;49(3):441-2.
Sanyal AJ. Angiotensin receptor blockade and portal hypertension: paradise gained and paradise lost.
Gastroenterology. 2001 Aug;121(2):487-90.
Vlachogiannakos J, Tang AK, Patch D, Burroughs AK. Angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II antagonists as therapy in
chronic liver disease. Gut. 2001 Aug;49(2):303-8.
Garcia N Jr, Sanyal AJ. Portal hypertension. Clin Liver Dis. 2001 May;5(2):509-40.
Brett BT, Hayes PC, Jalan R. Primary prophylaxis of variceal bleeding in cirrhosis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Apr;13(4):349-58.
Rossle M. Prevention of rebleeding from oesophageal-gastric varices. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Apr;13(4):343-8.
Vlavianos P, Westaby D. Management of acute variceal haemorrhage. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Apr;13(4):335-42.
Lebrec D, Moreau R. Pathogenesis of portal hypertension. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Apr;13(4):309-11.
Seewald S, Seitz U, Yang AM, Soehendra N. Variceal bleeding and portal hypertension: still a therapeutic challenge?
Endoscopy. 2001 Feb;33(2):126-39.
Conn HO. Portal hypertension, varices, and transjugular intrahepatic portosystemic shunts. Clin Liver Dis. 2000 Feb;4(1):133-50.
Dagher L, Burroughs A. Variceal bleeding and portal hypertensive gastropathy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Jan;13(1):81-8.
Tripathi D, Hayes PC. Review article: a drug therapy for the prevention of variceal haemorrhage.
Aliment Pharmacol Ther. 2001 Mar;15(3):291-310.
Krige JE, Beckingham IJ. ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system: portal hypertension-2. Ascites, encephalopathy, and other
conditions. BMJ. 2001 Feb 17;322(7283):416-8.
Bass NM, Yao FY. The role of the interventional radiologist. Transjugular procedures. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Jan;11(1):131-61.
Cheung RC, Cooper S, Keeffe EB. Endoscopic gastrointestinal manifestations of liver disease.
Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Jan;11(1):15-44.
Russo MW, Brown RS Jr. Endoscopic treatment of patients with portal hypertension. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Jan;11(1):1-14.
Krige JE, Beckingham IJ. ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system. Portal hypertension-1: varices.
BMJ. 2001 Feb 10;322(7282):348-51.
Henderson JM. Surgical treatment of portal hypertension. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Dec;14(6):911-25.
Garcia-Pagan JC, Bosch J. Medical treatment of portal hypertension. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Dec;14(6):895-909.
Wongcharatrawee S, Groszmann RJ. Diagnosing portal hypertension. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Dec;14(6):881-94.
Binmoeller KF, Soehendra N. New haemostatic techniques: histoacryl injection, banding/endoloop ligation and haemoclipping. Baillieres
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Apr;13(1):85-96.
Fevery J, Nevens F. Oesophageal varices: assessment of the risk of bleeding and mortality. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Aug;15(8):842-8.
de Franchis R. Stellate cells and the reversible component of portal hypertension. Dig Liver Dis. 2000 Mar;32(2):104-7.
Bosch J. Prevention of variceal rebleeding: endoscopes, drugs, and more. Hepatology. 2000 Sep;32(3):660-2.
Bohnacker S, Sriram PV, Soehendra N. The role of endoscopic therapy in the treatment of bleeding varices. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Jun;14(3):477-94.
Dagher L, Patch D, Burroughs A. Drug treatment for bleeding oesophageal varices. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Jun;14(3):365-90.
Grace ND. Hemodynamic assessment of pharmacological response in the treatment of portal hypertension: a need to know.
Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8):1862-4.
Binmoeller KF. Glue for gastric varices: some sticky issues. Gastrointest Endosc. 2000 Aug;52(2):298-301.
Kitano S, Baatar D. Endoscopic treatment for esophageal varices: will there be a place for sclerotherapy during the forthcoming era of ligation?
Gastrointest Endosc. 2000 Aug;52(2):226-32.
Vlachogiannakos J, Goulis J, Patch D, Burroughs AK. Review article: primary prophylaxis for portal hypertensive bleeding in cirrhosis.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 Jul;14(7):851-60.
Luketic VA, Sanyal AJ. Esophageal varices. II. TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt) and surgical therapy.
Gastroenterol Clin North Am. 2000 Jun;29(2):387-421.
Luketic VA, Sanyal AJ. Esophageal varices. I. Clinical presentation, medical therapy, and endoscopic therapy.
Gastroenterol Clin North Am. 2000 Jun;29(2):337-85.
Rockey DC. Vasoactive agents in intrahepatic portal hypertension and fibrogenesis: implications for therapy.
Gastroenterology. 2000 Jun;118(6):1261-5.
Bosch J, Garcia-Pagan JC. Complications of cirrhosis. I. Portal hypertension. J Hepatol. 2000;32(1 Suppl):141-56.
Binmoeller KF, Borsatto R. Variceal bleeding and portal hypertension. Endoscopy. 2000 Mar;32(3):189-99.
Jalan R, Lui HF, Redhead DN, Hayes PC. TIPSS 10 years on. Gut. 2000 Apr;46(4):578-81.
DAmico G, Pagliaro L, Bosch J. Pharmacological treatment of portal hypertension: an evidence-based approach.
Semin Liver Dis. 1999;19(4):475-505.
de Franchis R, Primignani M. Endoscopic treatments for portal hypertension. Semin Liver Dis. 1999;19(4):439-55.
Garcia-Pagan JC, Escorsell A, Moitinho E, Bosch J. Influence of pharmacological agents on portal hemodynamics: basis for its use in the
treatment of portal hypertension. Semin Liver Dis. 1999;19(4):427-38.
Wiest R, Groszmann RJ. Nitric oxide and portal hypertension: its role in the regulation of intrahepatic and splanchnic vascular resistance.
Semin Liver Dis. 1999;19(4):411-26.
Pinzani M, Gentilini P. Biology of hepatic stellate cells and their possible relevance in the pathogenesis of portal hypertension in cirrhosis.
Semin Liver Dis. 1999;19(4):397-410.
Ekataksin W, Kaneda K. Liver microvascular architecture: an insight into the pathophysiology of portal hypertension.
Semin Liver Dis. 1999;19(4):359-82.
Ong JP, Sands M, Younossi ZM. Transjugular intrahepatic portosystemic shunts (TIPS): a decade later.
J Clin Gastroenterol. 2000 Jan;30(1):14-28.
Goulis J, Burroughs AK. Role of vasoactive drugs in the treatment of bleeding oesophageal varices. Digestion. 1999;60 Suppl 3:25-34.
de Franchis R. Emerging strategies in the management of upper gastrointestinal bleeding. Digestion. 1999;60 Suppl 3:17-24.
Doenas do Aparelho Digestivo
572
Kok T, van der Jagt EJ, Haagsma EB, Bijleveld CM, Jansen PL, Boeve WJ. The value of Doppler ultrasound in cirrhosis and portal hypertension.
Scand J Gastroenterol Suppl. 1999;230:82-8.
Rauws EA. Prevention of recurrent variceal bleeding. Scand J Gastroenterol Suppl. 1999;230:71-5.
Reichen J. Portal hypertension: cytokines and endothelins. Hepatogastroenterology. 1999 Jun;46 Suppl 2:1434-6.
Clemens MG. Liver circulation in the development of portal hypertension. Hepatogastroenterology. 1999 Jun;46 Suppl 2:1429-33.
Lebrec D, Moreau R. Pathophysiology of portal hypertension. Hepatogastroenterology. 1999 Jun;46 Suppl 2:1426-8.
Fleig WE. Non-surgical treatment of variceal bleeding. Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr;46(26):746-52.
Kohler B, Riemann JF. The role of endoscopic Doppler-sonography. Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr;46(26):732-6.
Vargas HE, Rakela J. Liver transplantation for variceal hemorrhage. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Apr;9(2):347-53.
Henderson JM. The timing and role of non-transplant surgery in management of variceal bleeding.
Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Apr;9(2):331-45.
McKusick MA. Interventional radiology for the control and prevention bleeding. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Apr;9(2):311-29.
Miller LS. Endoscopic ultrasound in the evaluation of portal hypertension. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Apr;9(2):271-85.
Woods KL, Qureshi WA. Long-term endoscopic management of variceal bleeding. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Apr;9(2):253-70.
Memon MA, Jones WF. Injection therapy for variceal bleeding. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Apr;9(2):231-52.
Ahmad N, Ginsberg GG. Variceal ligation with bands and clips. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Apr;9(2):207-30.
Bleau BL. Endoscopic management of the acute variceal bleeding event. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Apr;9(2):189-206.
Gostout CJ. Patient assessment and resuscitation. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Apr;9(2):175-87.
Hadengue A. Somatostatin or octreotide in acute variceal bleeding. Digestion. 1999;60 Suppl 2:31-41.
FGADO - Hipertenso Portal
573
Doenas do Aparelho Digestivo
FGADO - Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea
575
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXVIII
ASCITE E PERITONITE BACTERIANA ESPONTNEA
1. Ascite
2. Peritonite Bacteriana Espntanea
575
Doenas do Aparelho Digestivo
1. ASCITE
A ascite a acumulao de fluidos na cavidade peritoneal, que ocorre quando a for-
mao desses fluidos ultrapassa os mecanismos responsveis pela sua remoo. As
fontes usuais do derrame peritoneal so o peritoneu visceral e o fgado, podendo
tambm ser produzido, em certas circunstncias, pelo pncreas e por doena nos
vasos linfticos. Este fluido normalmente removido pelo sistema linftico abdomi-
nal e pelo peritoneu parietal; qualquer enfermidade que afecte estas estruturas pode
determinar a disrupo do binmio produo/remoo, causando ou agravando a asci-
te.
1. ETIOLOGIA
Em Portugal, a causa mais frequente de ascite a cirrose heptica ( 80% dos casos),
usualmente de origem alcolica ou viral. Em cerca de 20% dos casos, h causas no
hepticas de reteno do fluido, como se indica no quadro seguinte:
FGADO - Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea
577
CAUSAS DE ASCITE
Cirrose heptica 80
Miscelnea relacionada com hipertenso portal 10
Origem cardaca 3
Carcinomatose peritoneal 3
Miscelnea no relacionada com hipertenso portal 2
- Peritonite tuberculose < 1
- Sindrome nefrtico < 1
- Pancreatite < 1
- Derrame quiloso maligno < 1
- Peritonite bacteriana secundria < 1
Causa %
2. PATOGENIA
A patofisiologia da formao da ascite no doente cirrtico complexa . A mais recen-
te teoria a hiptese da vasodilatao arterial procura compatibilizar as duas teo-
rias mais clssicas e sustentadas durante longos anos (underfill e overflow).
A teoria da vasodilatao arterial perifrica sustenta que nos estdios iniciais, antes
do desenvolvimento da ascite, a insuficincia hepatocelular e as colaterais porto-sis-
tmicas induzem o aumento de vasodilatadores endgenos, que condicionam a vaso-
dilatao arterial esplncnica. Esta determina uma diminuio do volume sanguneo
arterial efectivo e hipovolmia intravascular. Em consequncia, ocorre reteno transi-
tria de sdio e de gua para manter o volume intravascular. Nos estdios iniciais,
no se detecta aumento significativo nos nveis plasmticos de renina , aldosterona,
noradrenalina, ou hormona anti-diurtica. medida que a doena heptica progride
e se desenvolve ascite, a reteno transitria de sdio e de gua no suficiente para
manter o volume intravascular. ento mais consistentemente activado o sistema
renina-angiotensiva-aldosterona por baroreceptores aferentes no rim, no sentido de
obter a homeostasia vascular. Com esse intuito, so tambm libertadas a hormona
anti-diurtica e catecolaminas. medida que a vasodilatao se agrava, pode desen-
volver-se insuficincia renal e a sindrome hepato-renal, caracterizada por hipovolmia
intravascular, elevao dos nveis sricos da renina, aldosterona e catecolaminas, e
acentuada vasoconstrio renal com hiponatrmia, resultante do aumento da hormo-
na anti-diurtica. Em esquema, a patognese da ascite num cenrio de cirrose hep-
tica, seria o seguinte, de acordo com Runyon:
So diferentes os mecanismos de reteno fluida nos casos de ascite no cirrtica. A
carcinomatose peritoneal causa ascite por exsudao de um fluido proteico das clu-
las tumorais que invadiram o peritoneu. Nos casos de metastizao heptica macia,
acumula-se fluido na cavidade peritoneal pela ocorrncia de hipertenso portal cau-
sada por estenose ou ocluso de veias portais por ndulos ou embolos tumorais. A
ascite quilosa devida a linfoma maligno parece ser causada por obstruo dos gn-
glios linfticos ou por rotura de linfticos.
xido
Ntrico
Vasodilatao
Reteno de
sdio e gua
Formao
de
Ascite
Expanso do
volume intravascular
Actividade simptica
renina, aldosterona
Hipertenso
Portal
Doenas do Aparelho Digestivo
578
A ascite que complica a insuficincia cardaca ou a sindrome nefrtica, tem um meca-
nismo de formao parecido ao da cirrose heptica. A tuberculose e a infeco por
clamdia, originam ascite por um mecanismo parecido ao da carcinomatose peritoneal.
A peritonite bacteriana espontnea parece no originar acumulao de fluido perito-
neal, desenvolvendo-se na vigncia de ascite pr-existente. Nas ascites de origem
pancretica ou biliar, acumula-se fluido por disrupo de canais ou por agresso qu-
mica do peritoneu.
3. CLNICA
Na histria clnica importante questionar sobre o consumo de lcool e procurar obter
informao sobre a hiptese de hepatite viral. A dor abdominal mais referida nas
ascites malignas, se bem que possa ocorrer no contexto de uma peritonite bacteria-
na espontnea ou de hepatite alcolica. A histria de insuficincia cardaca pode
apontar para ascite cardaca. A tuberculose peritoneal cursa usualmente com febre e
dor abdominal. O doente com pancreatite aguda ou crnica pode desenvolver ascite.
Na vigncia de ascite, anasarca e diabetes, deve suspeitar-se de sndrome nefrtico.
O mixedema e as doenas do conectivo podem desenvolver ascite, bem como a sin-
drome Clamidia Fitz-Hugh-Curtis, na mulher sexualmente activa.
No exame fsico, encontramos frequentemente um doente plido, magro e desidrata-
do. O abdmen encontra-se distendido, pelo fluido acumulado e por distenso gaso-
sa intestinal. O aumento da presso abdominal favorece a formao de hrnias umbi-
licais ou inguinais. frequente o edema escrotal. A distncia entre o umbigo e a sn-
fise pbica parece encurtada.
Por vezes, evidenciam-se veias distendidas na parede abdominal que podem corres-
ponder a colaterais porto-sistmicas usualmente irradiando a partir do umbigo, ou a
um bloqueio funcional da veia cava inferior pela tenso do fluido peritoneal. Neste
caso, localizam-se usualmente nas zonas inguinais e nos flancos. importante pes-
quisar sinais cutneas de hepatopatia crnica.
A percusso abdominal evidencia a existncia de macicez nos flancos quando o doen-
te se encontra em supinao, com timpanismo central. Frequentemente tambm
possvel evidenciar o sinal da onda asctica. So necessrios cerca de 1.500 cc de flui-
do para se detectar macicez nos flancos. No doente obeso, a percusso torna-se mais
dificil, podendo ser requerida a ultra-sonografia para autenticar a presena de ascite.
Este exame consegue identificar derrames peritoneais diminutos, na ordem dos 100
cc.
A percusso torcica pode evidenciar macicez nas bases pulmonares, mais frequente
direita, traduzindo a presena de derrame pleural.
FGADO - Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea
579
Outros sinais eventualmente detectados no exame fsico: nodulo de Sister Mary
Joseph uma massa imvel no umbigo que traduz carcinomatose peritoneal -, disten-
so jugular venosa (ascite cardaca), edema perifrico e anasarca.
4. DIAGNSTICO
O diagnstico da causa de ascite baseia-se na histria clnica, exame fsico e anlise
do lquido asctico. Eventualmente pode ser til a colaborao da imagiologia e da
endoscopia.
PARACENTESE ABDOMINAL
INDICAES
provavelmente o mtodo mais rpido e menos oneroso no diagnstico da etio-
logia da ascite. Pode detectar, alm disso, a ocorrncia de infeco do liquido asc-
tico, cuja prevalncia de 10-30% no momento da admisso hospitalar. Esta detec-
o precoce da infeco pode reduzir a mortalidade. Por isso, todos os doentes
que surgem pela primeira vez com ascite devem ser submetidos a paracentese
diagnstica. Esta deve ser repetida em todos os doentes que desenvolvem quei-
xas clnicas, ou evidenciam sinais laboratoriais sugestivos de infeco.
CONTRA-INDICAES
So raras as contra-indicaes da paracentese. S coagulopatias severas, com evi-
dente fibrinlise ou coagulao intravascular disseminada, contra-indicam a para-
centese. Desde que realizada de acordo com os preceitos tcnicos, a paracentese
tem uma taxa muito reduzida de complicaes.
ANLISE DO LQUIDO ASCTICO.
Na prtica clnica, consideram-se trs tipos de testes: testes de rotina, testes
opcionais e testes de utilizao rara.
Doenas do Aparelho Digestivo
580
Contagem de clulas Glicose Pesquisa de BK
Gradiente da albumina LDH Colorao Gram
Protenas totais Amilase CEA
Cultura Triglicerdeos Adenosina-deaminase
Bilirrubina
Citologia
EXAME LABORATORIAL DO LQUIDO ASCTICO
Rotina Opcional Raro
a- TESTES DE ROTINA
Contagem de clulas.
Na ascite cirrtica no complicada, o nmero de leuccitos no excede 500
clulas/mm
3
. Contudo, durante a diurese em doentes com cirrose, estas clulas podem
concentrar, atingindo valores de 1.000/mm
3
, ou mais. Por isso tem mais interesse a
contagem dos polimorfonucleares, que no ultrapassam o limite de 250/mm
3
na cirro-
se no complicada, valor que no sofre variaes com a diurese.
Na peritonite bacteriana espontnea, encontram-se elevados os valores totais dos leu-
ccitos e dos polimorfonucleares, representando estes, usualmente, mais de 75% dos
leuccitos. Tambm na tuberculose e na carcinomatose peritoneal ocorre uma eleva-
o na contagem das clulas, mas usualmente com predomnio dos linfcitos.
Estudo do gradiente da albumina (soro/ascite).
O clculo deste gradiente envolve a mensurao da concentrao da albumina no soro
e no liquido asctico, e subtraindo o valor do liquido asctico ao valor do soro, que
sempre mais elevado. uma subtraco, no uma diviso. Se o gradiente superior
a 1.1 gr/dl, o doente tem quase seguramente (97%) hipertenso portal. Se o gradien-
te inferior a 1.1 gr/dl, o doente no tem, quase seguramente (97%), hipertenso
portal.
Quando o gradiente da albumina excede 1.1 gr/dl, o diagnstico diferencial da ascite
inclui: cirrose, hepatite alcolica, metstases hepticas, insuficincia heptica fulmi-
nante, ascite cardaca, mixedema, sindrome de Budd-Chiari, trombose da veia porta,
doena veno-oclusiva, esteatose heptica aguda da gravidez e ascite mista.
Se o gradiente da albumina inferior a 1.1 gr/dl, o diagnstico diferencial inclui a car-
cinomatose peritoneal, a peritonite tuberculose, a peritonite por Clamdia, a ascite
pancretica, a ascite biliar, a sindrome nefrtica, a serosite nas doenas do tecido
conectivo, e o enfarte ou a perfurao intestinal.
Um valor elevado (>25 gr/l) das protenas totais no liquido asctico,suscita a suspeita
de carcinomatose peritoneal, tuberculose, ascite cardaca, sindrome de Buldd-Chiari e
mixedema. Outras hiptese so a ascite pancretica e biliar, a perfurao intestinal e
a rotura linftica. No entanto, a estimativa das protenas totais tem limitaes. De
facto, quase 20% dos doentes com ascite cirrtica no complicada, apresentam valo-
res > 25 gr/l.
A cultura do fluido asctico tem muito interesse clnico. A colheita deve realizar-se
cabeceira do doente, inoculando 10-20 cc de liquido asctico em dois frascos de cul-
tura. A maioria dos episdios de peritonite bacteriana espontnea, so provocados
pelo Escherichia coli, por estreptococos (na maioria pneumococos) e pela Klebsiella.
S cerca de 1% das infeces so determinadas por agentes anaerbios.
FGADO - Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea
581
b TESTES OPCIONAIS
Os testes adicionais incluem a mensurao da glicmia, LDH, amilase, triglicerdeos,
bilirrubina, e o estudo citolgico.
A glicose no fluido ascitico pode ser consumida por bactrias e leuccitos, poden-
do o seu nvel descer para O mgr/dl na peritonite bacteriana espontnea e na per-
furao intestinal.
A desidrogenase lctica pode subir no liquido asctico no contexto da peritonite
bacteriana espontnea, e elevar-se vrias vezes quando ocorre perfurao intesti-
nal.
O nvel da amilase na ascite no complicada cerca de 44% do detectado no soro.
Sobe de forma significativa na vigncia de pancreatite ou de perfurao intestinal.
Na ascite pancretica, o nvel da amilase atinge valores de 2000 UI/l, seis vezes
mais do que os nveis sricos.
Se o fluido asctico opalescente ou francamente leitoso, deve solicitar-se a men-
surao dos triglicerdeos. O fluido asctico quiloso tem nveis de triglicerdeos de
pelo menos 200 mgr/dl, podendo situar-se acima de 1000 mgr/dl. No liquido claro
ou citrino da ascite cirrtica, a concentrao dos triglicerdeos ronda os 20 mgr/dl.
Se o liquido ascitico tem uma colorao castanha-escura, deve pesquisar-se a con-
centrao de bilirrubina. Valores acima de 6 mgr/dl, e superiores aos correspon-
dentes nveis plasmticos, sugerem perfurao biliar ou do tracto digestivo alto.
Neste ltimo caso, a cultura do liquido asctico polimicrobiana.
O exame citolgico positivo na carcinomatose peritoneal, por exfoliao de clu-
las tumorais para a cavidade peritoneal. Se essa exfoliao no ocorre, facto que
muitas vezes acontece, designadamente no hepatocarcinoma, nas metstases
hepticas e no linfoma, o exame citolgico negativo. Para rentabilizar este estu-
do, devem ser facultados pelo menos 50 cc de liquido asctico.
c TESTES DE UTILIZAO INFREQUENTE
Encontram-se em fase de validao as determinaes do antignio carcinoembrion-
rio (CEA) na ascite maligna e da adenosina deaminase na peritonite tuberculosa.
Testes raramente solicitados incluem a colorao por Gram e a cultura do bacilo da
tuberculose. O primeiro tem uma sensibilidade muito baixa, e a cultura positiva s
em 45% dos casos. Na suspeita de peritonite bacilar, deve realizar-se laparoscopia,
com estudo histolgico e cultura de bipsias peritoneais.
Doenas do Aparelho Digestivo
582
5 - TRATAMENTO
O tratamento da ascite depende da causa de reteno do fluido. Alm de ter valor
diagnstico, o estudo do gradiente da albumina (soro-ascite), pode ser til na orien-
taoteraputica.
A TRATAMENTO DA ASCITE COM GRADIENTE DE ALBUMINA <1.1 gr/dl
Na carcinomatose peritoneal, a paracentese a medida usualmente utilizada. Os diu-
rticos tm escasso valor, pois s actuam no edema perifrico. A ascite por tumor do
ovrio uma excepo, pois responde cirurgia com quimioterpia.
A peritonite tuberculosa responde aos frmacos especficos. Se existe cirrose conco-
mitante, os diurticos so teis.
A ascite pancretica ou biliar pode responder teraputica endoscpica ou inter-
venao cirrgica. controversa a utilizao de somatostatina ou octretido na ascite
pancretica.
A peritonite por clamdia trata-se com tetraciclinas.
A ascite lpica controlada por corticoterpia na maioria dos casos, mas 50% dos
doentes requerem imunosupresso adicional.
Na ascite nefrognica, a hemodilise diria, a dilise peritoneal ambulatria continua,
o shunt peritoneo-venoso e a transplantao renal so alternativas teraputicas com
resultados variveis.
B TRATAMENTO DA ASCITE COM GRADIENTE DE ALBUMINA > 1.1 gr/dl
Este tpico diz respeito ao tratamento da ascite em doentes com doena heptica,
que se baseia nas seguintes medidas:
Identificar e eliminar, se possivel, factores precipitantes: abuso alcolico e dietti-
co, hemorragia gastrointestinal, carcinoma hepatocelular, AINES, causa iatrognica
(administrao salina), no aderncia medicao, infeco (por ex. peritonite bac-
teriana espontnea) e trombose da veia porta.
A hospitalizao est indicada em ascites volumosas, no insucesso do tratamento
ambulatrio e quando fundamental instruir e disciplinar o doente quanto res-
trio diettica e manipulao de diurticos. Estabilizada a ascite e instruido o
doente, este pode passar ao regime ambulatrio, com controlo dentro de 2-4
semanas.
FGADO - Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea
583
A restrio em sdio (mximo permitido 2 gr/dia = 88 mmol/dia) e a teraputica
diurtica constituem o tratamento base na ascite cirrtica. Em mais de 90% dos
casos ocorre uma diurese eficaz. S 10-15% dos doentes tm natriurese espont-
nea suficiente, sem necessidade de diurticos.
Os diurticos mais recomendados so a espironolactona e o furosemido, adminis-
trados associadamente numa dose nica matinal. Deve iniciar-se o tratamento com
100 mgr de espironolactona e 40 mgr de furosemido, respectivamente. Estas doses
devem ser gradualmente tituladas at obteno de uma diurese eficaz, no
devendo ser ultrapassadas as doses mximas de 400 mgr e 160 mgr, respectiva-
mente. Se a ascite permanece resistente a esta medicao dupla, pode tentar-se
um terceiro ou mesmo um quarto diurtico, por exemplo hidroclorotiazida 25
mgr/dia ou metolazona 5 mgr/dia . No h limite perda de peso dirio nos
doentes com ascite e edemas perifricos. Logo que os edemas perifricos tenham
desaparecido, a diurese deve limitar-se a 750 ml/dia para evitar o desenvolvimen-
to de azotemia e distrbios electrolticos. Obtida uma diurese substancial, deve
reduzir-se a medicao para manter um peso estvel.
Deve ajustar-se a relao espironolactona: furosemido se surgem alteraes no
potssio. A espironolactona tem uma semi-vida de 24 horas no indivduo saud-
vel, que no entanto se prolonga no cirrtico. Pode causar ginecomastia e hiperca-
limia eventualmente deletria no insuficiente renal. Em caso de necessidade,
pode ser substituda pelo amiloride, numa relao posolgica de 1:10 por miligra-
ma.
Constituem contra-indicaes teraputica diurtica: encefalopatia heptica, natr-
mia < 120 mmol/l, e insuficincia renal com valores de creatinina srica > 2 mgr/dl.
A monitorizao da excreo do sdio urinrio constitui um bom indicador da
compliance ao regime diettico. As perdas totais de sdio por outras vias, alm
da urinria, no excedem 10 mmol/dia no doente cirrtico sem febre nem diarreia.
A mensurao do sdio nas urinas colectadas num perodo de 24 horas, pode
facultar informaes preciosas. Se o peso do doente aumenta apesar de perdas
sdicas urinrias superiores ao sdio prescrito na dieta, deve suspeitar-se de
abuso diettico pelo doente. Por outro lado, deve aumentar-se a dose dos diur-
ticos, se a diurese insatisfatria acompanhada de uma excreo urinria de sdio
nas 24 horas < 78 mmol.
A paracentese teraputica melhora a funo cardaca e est indicada na ascite
tensa. Uma paracentese de 5 litros pode ser realizada sem infuso de colides,
quer em doentes edemaciados ou no. A paracentese teraputica no deve subs-
tituir na rotina clnica a restrio de sdio associada a diurticos no tratamento
dirio do doente sensvel aos frmacos diurticos.
Doenas do Aparelho Digestivo
584
Deve evitar-se a administrao de diurticos por via endovenosa. Os AINES inibem
a aco dos diurticos, induzem insuficincia renal e causam hemorragia gastroin-
testinal, pelo que devem ser evitados. No obrigatrio o repouso no leito. A res-
trio de fluidos no necessria na maioria dos doentes com cirrose, excepto nas
situaes de hiponatrmia significativa.
ASCITE REFRACTRIA
Definio
Ascite que no pode ser mobilizada, ou recorrncia precoce da ascite no satisfato-
riamente prevenida por teraputica mdica:
Ausncia de resposta restrio de sdio e tratamento diurtico intensivo (espi-
ronolactona 400 mgr e furosemido 160 mgr/dia). a ascite refractria resistente
aos diurticos.
Impossibilidade de prescrever doses eficazes de diurticos pelo desenvolvimento
de complicaes. a ascite refractria intratvel.
A ascite refractria tem mau prognstico. Cerca de um quarto dos doentes sobrevive
at um ano.
Opes Teraputicas
Paracenteses de grande volume.
uma medida teraputica eficaz e relativamente segura, podendo ser repetida de
acordo com as necessidades. A infuso de albumina no necessria para para-
centeses < 5 litros. Acima deste valor essa infuso opcional, de acordo com as
recomendaes da Associao Americana para o Estudo das Doenas do Fgado
(AASLD).
Shunt peritoneo-venoso.
Embora melhore a abordagem teraputica da ascite a longo prazo, no altera as
taxas de hospitalizao nem a sobrevida do doente. Por outro lado, as complica-
es que pode originar (infeces bacterianas, insuficincia cardaca, hemorragia
digestiva, coagulao vascular disseminada e trombose ou mau funcionamento do
shunt), relegaram este mtodo para casos muito seleccionados.
TIPS.
Recentemente recomendado no tratamento da ascite refractria, tem a vantagem
de incluir a descompresso da hipertenso portal e diminuir o risco de hemorra-
FGADO - Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea
585
gia por varizes. Desvantagens: complicaes relacionadas com a tcnica e encefa-
lopatia heptica.
Transplantao heptica.
Cerca de 50% dos doentes com cirrose compensada desenvolvem ascite dentro de
10 anos. A sobrevida aos 2 anos de 50% aps o aparecimento de ascite, e dimi-
nui para 25% ao fim de um ano se a ascite se volve refractria. Aps um primei-
ro episdio de peritonite bacteriana espontnea, as chances de sobrevida ao cabo
de um ano so de 20%. Por estas razes, a referncia para avaliao no sentido
de uma transplantao, deve iniciar-se no momento da primeira descompensao,
e no quando surge ascite refractria ou peritonite bacteriana espontnea.
2. PERITONITE BACTERIANA ESPONTNEA
A PATOGNESE
As duas mais provveis vias de contaminao bacteriana do liquido asctico so:
Translocao. Passagem de bactrias atravs da parede intestinal. A favor desta hip-
tese milita a circunstncia de que 70% das infeces da ascite so motivadas por
microorganismos entricos.
Via hematognia. Esta hiptese suportada na evidncia de que 50% dos episdios
de peritonite bacteriana espontnea (PBE) se acompanham de bacterimia envolven-
do o mesmo agente isolado no liquido asctico.
A colonizao do fluido asctico (bacterascite) pode ter duas consequncias: clea-
rance por clulas fagocitrias intraperitoneais, ou proliferao bacteriana progressiva
com peritonite (PBE).
Um fluido asctico com proteinas totais < 1gr/dl, comporta um risco aumentado de
infeco. Abaixo deste nvel, a actividade opsnica desprezvel. A PBE acontece 10
vezes mais em doentes hospitalizadas com baixo teor proteico na ascite.
A hemorragia gastrointestinal um factor de elevado risco de infeco do liquido asc-
tico, na medida em que promove a translocao de bactrias.
O mais importante factor de risco da PBE, ter ocorrido um episdio anterior. Dois ter-
os desses doentes desenvolvem recorrncia da infeco no prazo de um ano.
B CLNICA
Cerca de 10% dos doentes com ascite cirrtica desenvolvem PBE anualmente. A infec-
o do liquido ascitico ocorre em percentagens que vo at 25% nos doentes cirrti-
cos aps a admisso hospitalar.
Doenas do Aparelho Digestivo
586
A mortalidade intra-hospitalar dos cirrticos infectados de cerca de um tero, e a
mortalidade relacionada com a PBE situa-se abaixo dos 10%.
A apresentao clnica varivel; um tero dos doentes no evidencia os sinais e sin-
tomas clssicos de PBE.
Sintomas de PBE: dor abdominal, nasea, vmitos, calafrios, diarreia, encefalopatia.
Sinais de PBE: defesa abdominal, febre, hipotenso, taquicardia, leucocitose, azot-
mia, hiperbilirrubinmia.
A ocorrncia de alguns destes sintomas ou sinais num doente com ascite obriga exe-
cuo de paracentese urgente, para excluso de infeco do liquido asctico.
C PBE E VARIANTES
1. A PBE caracterizada pela existncia de cultura positiva no liquido asctico (usual-
mente um nico microorganismo) e por uma contagem dos neutrfilos poliformonu-
cleares 250 clulas/mm
3
, na ausncia de conhecida ou suspeita fonte cirrgica de
infeco intra-abdominal.
2. Uma variante a ascite neutroctica com cultura negativa. A contagem de neutrfi-
los no lquido asctico 250/mm
3
, a cultura negativa e no existe aparente fonte
de infeco intra-abdominal.
consequncia, na maior parte dos casos, de tcnicas de cultura insatisfatrias.
Pode resultar da resoluo de colonizao bacteriana transitria por aco das pro-
priedades antibacterianas do liquido asctico (complemento, opsoninas, imunoglo-
bulinas, etc).
Uma exposio recente a antibiticos pode suprimir a infeco do liquido asctico.
Podem existir outras causas confundveis com PBE: carcinomatose peritoneal, pan-
creatite, tuberculose peritoneal, doenas do conectivo, hemorragia no liquido asc-
tico.
Esta variante apresenta a mesma mortalidade da PBE, pelo que exige o mesmo
tipo de tratamento
3. Uma segunda variante da PBE a bacterascite monomicrobiana no neutroctica,
definida pela positividade da cultura associada a um padro normal na contagem dos
neutrfilos (< 250 clulas/mm
3
).
Embora estes doentes apresentem usualmente formas menos severas de doena
heptica, no existe diferena nos nveis das protenas totais no liquido asctico, em
comparao com a PBE.
FGADO - Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea
587
A evoluo da bacterascite determinada pela presena ou ausncia de sintomas ou
sinais clnicos associados. Nas formas assintomticas, h tipicamente regresso
espontnea sem tratamento antibitico. As formas sintomticas tm o mesmo trata-
mento da PBE.
Algumas destas variantes podem resultar de contaminao exterior (staphylococcus
aureus, staphylococcus epidermidis).
4. A bacterascite polimicrobiana indica perfurao inadvertida do intestino pela agu-
lha de paracentese. Na cultura evidenciam-se mltiplos microorganismos, sendo nor-
mal a contagem de neutrfilos (< 250/mm
3
). Deve repetir-se a paracentese para detec-
tar uma resposta neutroflica, que impe antibioterpia. A maioria destas situaes
regridem espontaneamente, sem desenvolvimento de peritonite secundria.
5. A peritonite bacteriana secundria diferencia-se da PBE pela existncia de uma
fonte conhecida ou suspeita de infeco intra-abdominal (por ex. vscera perfurada ou
abcesso intra-abdominal). caracterizada pela existncia de neutrfilos > 250/mm
3
,
com cultura positiva (frequentemente com mltiplos agentes infecciosos intestinais).
So dados sugestivos de peritonite bacteriana secundria: protenas totais > 1 gr/dl,
glicose < 50 mgr/dl, LDH > limite superior do padro normal no soro. Os estudos ima-
giolgicos (radiografias simples do abdmen e estudos contrastados do tracto gastro-
intestinal) podem fornecer indicaes decisivas. A interveno cirrigica mandatria.
D TRATAMENTO
O tratamento correcto da PBE impe a realizao de paracentese diagnstica.
fortemente recomendado o tratamento emprico, antes do resultado da cultura,
desde que a contagem de neutrfilos exceda 250 clulas/mm3.
O regime teraputico mais apropriado depende do conhecimento da flora bacteriana
responsvel. Os microorganismos mais comuns incluem a Escherichia coli (43%),
Klebsiella pneumoniae (11%) e espcies de Streptococcus (23%). Raramente se detec-
tam organismos anaerbios, excepto na peritonite secundria. Os fungos no so
causa de PBE.
Os antibiticos recomendados so as cefalosporinas de 3 gerao. Os aminoglicos-
deos esto contra-indicados na cirrose com ascite.
A cefotaxima permite uma cobertura antibitica de mais de 94% da flora responsvel
pela PBE, e tambm o antibitico de escolha no tratamento emprico. A dose reco-
mendada de 2 gr. i.v. cada 8 horas.
Nenhum outro regime antibitico estudado revelou superioridade relativamente
Doenas do Aparelho Digestivo
588
cefotaxima. A administrao deste antibitico deve fazer-se pelo menos durante 5
dias. No se evidenciou benefcio com a administrao do frmaco durante 10 dias.
Est indicado repetir a paracentese quando se suspeita de peritonite secundria (cirr-
gica) ou se a resposta cefotaxima no ocorre. Neste caso, pode estar em jogo um
microorganismo resistente ao antibitico.
E PROFILAXIA
ANTIBIOTERPIA PROFILCTICA
A norfloxacina, uma fluoroquinolona de dificil absoro, tem sido utilizada em cirrti-
cos para descontaminao selectiva intestinal. Oferece vrias vantagens para esse
efeito: pequena absoro quando administrada por via oral ( 30%), eficcia contra
microorganismos Gram-negativos, a principal flora da PBE, ao mesmo tempo que
poupa os Gram-positivos e os anaerbios, pelo que no ocorre grave desequilibrio do
eco-sistema intestinal. Outros agentes estudados incluem a ciprofloxacina e o trime-
toprim-sulfametoxazol.
GRUPOS DE RISCO DE PBE
Doentes hospitalizados com ascite de baixo teor proteico (proteinas totais no fluido
asctico < 1.5 gr/dl). A profilaxia com norfloxacina oral, na dose de 400 mgr/dia, duran-
te a hospitalizao, revelou-se muito benfica.
Doentes cirrticos com hemorragia gastrointestinal. Evidenciam alto risco de PBE por
aumento da translocao de bactrias para a cavidade peritoneal. A profilaxia com 400
mgr de norfloxacina oral, duas vezes/dia, iniciada imediatamente aps o exame endos-
cpico de urgncia e continuada durante 7 dias, evidenciou uma diminuio da inci-
dncia de infeces gerais.
Os doentes que recuperaram de um episdio de PBE, evidenciam uma elevada taxa
de recorrncia da infeco, com considervel mortalidade associada. A administrao
de norfloxacina oral, na dose diria de 400 mgr, aps a recuperao do episdio de
PBE, evidenciou uma diminuio significativa de probabilidade de PBE recorrente, de
68% para 20% ao cabo de 1 ano, sem alterao da mortalidade global.
FGADO - Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea
589
RESERVAS ANTIBIOTERPIA PROFILCTICA DE ROTINA NA PBE
A administrao profilctica de norfloxacina, durante longos perodos de tempo, induz
o desenvolvimento de organismos resistentes s quinolonas em cerca de 50% dos
doentes tratados. H receio de desenvolvimento de quadros de PBE por
Gram-positivos, incluindo Enterococcus, anaerbios e fungos.
Apesar de diminuir de forma indiscutvel a incidncia de episdios infecciosos e de
quadros de PBE, a profilaxia de rotina com norfloxacina no demonstrou, at agora,
benefcio na taxa de mortalidade.
O custo do tratamento profilctico significativo.
A norfloxacina pode induzir reaces alrgicas, disfuno renal (nefrite intersticial) pro-
blemas gastrointestinais, candidase oral e colite pseudomembranosa.
Doenas do Aparelho Digestivo
590
FGADO - Ascite e Peritonite Bacteriana Espontnea
591
REFERNCIAS
Caldwell SH, Battle EH.. Ascites and spontaneous bacterial peritonitis. In: Schiff E, Sorrell MF, Maddrey WC (Eds). Schiffs. Diseases of the
Liver (8th Ed.). Lippincott-Raven 1999: 503-544.
Gins P, Arroyo V, Rods J. Complications of cirrhosis: ascites, hyponatremia, hepatorenal syndrome and spontaneous bacterial peritonitis.
In: Bacon BR, Di Bisceglie AM (Eds). Liver Disease. Diagnosis and Management. Churchill Livingstone 2000: 238-250.
Gins P, Arroyo V, Rods J. Pathopysiology, complications and treatment of ascites. Clin Liver Dis 1997; 1(1): 129-156.
Wong F, Blendis L. The physiologic basis of treatment of ascites. Clin Liver Dis 2001; 5(3): 819-832.
Wongcharatrawee S, Garcia-Tsao G. Clinical management of ascites and its complications. Clin Liver Dis 2001; 5 (3): 833-850.
Moreau R, Lebrec D. Prise en charge des malades atteints de cirrhose ayant une ascite. Gastroenterol Clin Biol 1999 ; 23 : 379-387.
Runyon BA. Management of adult patients with ascites caused by cirrhosis. Hepatology 1998; 27: 264-272.
Cadranel JF. Infections bactriennes chez le cirrhotique. Hepato-Gastro 1999; 6 (2): 87-90.
Moreau R. Linfection spontane du liquide dascite; une nouvelle indication de lalbumine intraveineuse?
Gastroenterol Clin Biol 2000; 24: 335-336.
Freitas D. Ascite. In: Freitas D (Ed). Temas de Medicina (2 Vol.). Coimbra: 67-90.
Pedro AJ, Cortez Pinto H, Almeida JC et al. Peritonite bacteriana espontnea. Prevalncia, clinica, e factores predizentes do primeiro episdio.
GE J Port. Gastrenterol 1998, 5 (1): 20-27.
Suzuki H, Stanley AJ. Current management and novel therapeutic strategies for refractory ascites and hepatorenal syndrome.
QJM. 2001 Jun;94(6):293-300.
Yu AS, Hu KQ. Management of ascites. Clin Liver Dis. 2001 May;5(2):541-68,
Jeffery J, Murphy MJ. Ascitic fluid analysis: the role of biochemistry and haematology. Hosp Med. 2001 May;62(5):282-6.
Zervos EE, Rosemurgy AS. Management of medically refractory ascites. Am J Surg. 2001 Mar;181(3):256-64.
Gentilini P, Vizzutti F, Gentilini A, La Villa G. Ascites and hepatorenal syndrome. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Apr;13(4):313-6.
Cardenas A, Gines P. Pathogenesis and treatment of fluid and electrolyte imbalance in cirrhosis. Semin Nephrol. 2001 May;21(3):308-16.
Abecasis R, Guevara M, Miguez C, Cobas S, Terg R. Long-term efficacy of torsemide compared with frusemide in cirrhotic patients with
ascites. Scand J Gastroenterol. 2001 Mar;36(3):309-13.
Colle I, Moreau R, Pessione F, Rassiat E, Heller J, Chagneau C, Pateron D, Barriere E, Condat B, Sogni P, Valla D, Lebrec D. Relationships
between haemodynamic alterations and the development of ascites or refractory ascites in patients with cirrhosis.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Mar;13(3):251-6.
Dittrich S, Yordi LM, de Mattos AA. The value of serum-ascites albumin gradient for the determination of portal hypertension in the diagnosis
of ascites. Hepatogastroenterology. 2001 Jan-Feb;48(37):166-8.
Cardenas A, Bataller R, Arroyo V. Mechanisms of ascites formation. Clin Liver Dis. 2000 May;4(2):447-65
Reynolds TB. Ascites. Clin Liver Dis. 2000 Feb;4(1):151-68.
Fernandez-Esparrach G, Sanchez-Fueyo A, Gines P, Uriz J, Quinto L, Ventura PJ, Cardenas A, Guevara M, Sort P, Jimenez W, Bataller R,
Arroyo V, Rodes J. A prognostic model for predicting survival in cirrhosis with ascites. J Hepatol. 2001 Jan;34(1):46-52.
Zucker SD. Management of refractory ascites: are tips or taps tops? Gastroenterology. 2001 Jan;120(1):311-2.
Garcia-Tsao G. Current management of the complications of cirrhosis and portal hypertension: variceal hemorrhage, ascites, and spontaneous
bacterial peritonitis. Gastroenterology. 2001 Feb;120(3):726-48.
Inadomi JM, Kapur S, Kinkhabwala M, Cello JP. The laparoscopic evaluation of ascites. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2001 Jan;11(1):79-91.
Garcia-Tsao G. Treatment of refractory ascites: tips or taps? Hepatology. 2001 Feb;33(2):477-9.
Cabrera J, Falcon L, Gorriz E, Pardo MD, Granados R, Quinones A, Maynar M. Abdominal decompression plays a major role in early
postparacentesis haemodynamic changes in cirrhotic patients with tense ascites. Gut. 2001 Mar;48(3):384-9.
Pascual S, Such J, Perez-Mateo M. Spontaneous bacterial peritonitis and refractory ascites. Am J Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3686-7.
Uriz J, Cardenas A, Arroyo V. Pathophysiology, diagnosis and treatment of ascites in cirrhosis. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Dec;14(6):927-43.
Spahr L, Villeneuve JP, Tran HK, Pomier-Layrargues G. Furosemide-induced natriuresis as a test to identify cirrhotic patients with refractory
ascites. Hepatology. 2001 Jan;33(1):28-31.
Tueche SG, Pector JC. Peritoneovenous shunt in malignant ascites. The Bordet Institute experience from 1975-1998.
Hepatogastroenterology. 2000 Sep-Oct;47(35):1322-4.
Kravetz D, Bildozola M, Argonz J, Romero G, Korula J, Munoz A, Suarez A,
Terg R. Patients with ascites have higher variceal pressure and wall tension than patients without ascites.
Am J Gastroenterol. 2000 Jul;95(7):1770-5.
Lee JK, Hsieh JF, Tsai SC, Ho YJ, Kao CH. Effects of single dose of 50mg captopril in patients with liver cirrhosis and ascites.
Hepatogastroenterology. 2000 May-Jun;47(33):767-70.
Michl P, Gulberg V, Bilzer M, Waggershauser T, Reiser M, Gerbes AL. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for cirrhosis and
ascites: Effects in patients with organic or functional renal failure. Scand J Gastroenterol. 2000 Jun;35(6):654-8.
Lake JR. The role of transjugular shunting in patients with ascites. N Engl J Med. 2000 Jun 8;342(23):1745-7.
Rossle M, Ochs A, Gulberg V, Siegerstetter V, Holl J, Deibert P, Olschewski
M, Reiser M, Gerbes AL. A comparison of paracentesis and transjugular intrahepatic portosystemicshunting in patients with ascites. N Engl
J Med. 2000 Jun 8;342(23):1701-7.
Gentilini P, Laffi G, La Villa G, Romanelli RG, Blendis LM. Ascites and hepatorenal syndrome during cirrhosis: two entities or thecontinuation
of the same complication? J Hepatol. 1999 Dec;31(6):1088-97.
Salerno F, Angeli P, Bernardi M, Laffi G, Riggio O, Salvagnini M. Clinical practice guidelines for the management of cirrhotic patients with
ascites. Committee on Ascites of the Italian Association for the Study of the Liver. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1999 Oct;31(7):626-34.
Blendis L, Wong F. Does repeated paracentesis prevent spontaneous bacterial peritonitis? Am J Gastroenterol. 1999 Oct;94(10):2798-800.
Zuckerman E, Lanir A, Sabo E, Rosenvald-Zuckerman T, Matter I, Yeshurun D, Eldar S. Cancer antigen 125: a sensitive marker of ascites in
patients with liver cirrhosis. Am J Gastroenterol. 1999 Jun;94(6):1613-8.
Gonzalez-Abraldes J, Sanchez-Fueyo A, Arroyo V. The treatment of ascites. Acta Gastroenterol Belg. 1999 Jan-Mar;62(1):41-6
Bernardi M, Blendis L, Burroughs AK, Laffi G, Rodes J, Gentilini P. Hepatorenal syndrome and ascitesquestions and answers.
Liver. 1999;19(1 Suppl):15-74.
Gentilini P. Hepatorenal syndrome and ascitesan introduction. Liver. 1999;19(1 Suppl):5-14.
Blendis L, Wong F. Intravenous albumin with diuretics: protean lessons to be learnt? J Hepatol. 1999 Apr;30(4):727-30.
Gentilini P, Casini-Raggi V, Di Fiore G, Romanelli RG, Buzzelli G, Pinzani M, La Villa G, Laffi G. Albumin improves the response to diuretics
in patients with cirrhosis and ascites: results of a randomized, controlled trial. J Hepatol. 1999 Apr;30(4):639-45.
Rodriguez-Ramos C, Galan F, Diaz F, Elvira J, Martin-Herrera L, Giron-Gonzalez JA. Expression of proinflammatory cytokines and their inhibitors
during the course of spontaneous bacterial peritonitis. Dig Dis Sci. 2001 Aug;46(8):1668-76.
Thuluvath PJ, Morss S, Thompson R. Spontaneous bacterial peritonitisin-hospital mortality, predictors of survival, and health care costs
from 1988 to 1998. Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):1232-6.
Wu SS, Lin OS, Chen YY, Hwang KL, Soon MS, Keeffe EB. Ascitic fluid carcinoembryonic antigen and alkaline phosphatase levels for the
differentiation of primary from secondary bacterial peritonitis with intestinal perforation. J Hepatol. 2001 Feb;34(2):215-21.
Chang CS, Yang SS, Kao CH, Yeh HZ, Chen GH. Small intestinal bacterial overgrowth versus antimicrobial capacity in patients with
spontaneous bacterial peritonitis. Scand J Gastroenterol. 2001 Jan;36(1):92-6.
Garcia-Tsao G. Current management of the complications of cirrhosis and portal hypertension: variceal hemorrhage, ascites, and
spontaneous bacterial peritonitis. Gastroenterology. 2001 Feb;120(3):726-48.
Fernandez J, Bauer TM, Navasa M, Rodes J. Diagnosis, treatment and prevention of spontaneous bacterial peritonitis.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Dec;14(6):975-990.
Ljubicic N, Spajic D, Vrkljan MM, Altabas V, Doko M, Zovak M, Gacina P, Mihatov S. The value of ascitic fluid polymorphonuclear cell count
determination during therapy of spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis.
Hepatogastroenterology. 2000 Sep-Oct;47(35):1360-3.
Llovet JM, Moitinho E, Sala M, et al. Prevalence and prognostic value of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients presenting with
spontaneous bacterial peritonitis. J Hepatol. 2000 Sep;33(3):423-9.
Chu CM. Spontaneous bacterial peritonitis and bacteremia in fulminant hepatic failure. Am
J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8):2126-8. No abstract available.
Rimola A, Garcia-Tsao G, Navasa M, Piddock LJ, Planas R, Bernard B, Inadomi JM. Diagnosis, treatment and prophylaxis of spontaneous
bacterial peritonitis: a consensus document. International Ascites Club. J Hepatol. 2000 Jan;32(1):142-53.
Dhiman RK, Makharia GK, Jain S, Chawla Y. Ascites and spontaneous bacterial peritonitis in fulminant hepatic failure.
Am J Gastroenterol. 2000 Jan;95(1):233-8.
Brand RE. Intravenous albumin in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis: is it worth the cost?
Am J Gastroenterol. 1999 Dec;94(12):3404.
Runyon BA. Albumin infusion for spontaneous bacterial peritonitis. Lancet. 1999 Nov 27;354(9193):1838-9.
Martinez-Bru C, Gomez C, Cortes M, Soriano G, Guarner C, Planella T, Gonzalez-Sastre F. Ascitic fluid interleukin-8 to distinguish spontaneous
bacterial peritonitis and sterile ascites in cirrhotic patients. Clin Chem. 1999 Nov;45(11):2027-8.
Campillo B, Pernet P, Bories PN, Richardet JP, Devanlay M, Aussel C. Intestinal permeability in liver cirrhosis: relationship with severe septic
complications. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Jul;11(7):755-9.
Sort P, Navasa M, Arroyo V, Aldeguer X, Planas R, Ruiz-del-Arbol L, Castells L, Vargas V, Soriano G, Guevara M, Gines P, Rodes J. Effect of
intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis.
N Engl J Med. 1999 Aug 5;341(6):403-9.
Bass NM. Intravenous albumin for spontaneous bacterial peritonitis in patients with cirrhosis. N Engl J Med. 1999 Aug 5;341(6):443-4.
Garcia-TSAO G. Identifying new risk factors for spontaneous bacterial peritonitis: how important is it?
Gastroenterology. 1999 Aug;117(2):495-9.
Doenas do Aparelho Digestivo
592
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
593
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXIX
COMPLICAES SISTMICAS DA DOENA HEPTICA
1. Sndrome Hepato-Renal
2. Encefalopatia Heptica
3. Sndromes Hepato-Pulmonares
4. Disfuno Endcrina
5. Distrbios da Coagulao
593
Doenas do Aparelho Digestivo
1. SINDROME HEPATO-RENAL
1 DEFINIO
Trata-se de uma situao clnica que ocorre em doentes com hepatopatia crnica
avanada, insuficincia heptica e hipertenso portal, caracterizada por insuficincia
renal e distrbios marcados na circulao arterial e na actividade dos sistemas end-
genos vasoactivos. No rim ocorre acentuada vasoconstrio, de que resulta reduo
no ritmo de filtrao glomerular, enquanto que na circulao extra-renal h predom-
nio de vasodilatao arterial, que induz diminuio na resistncia vascular perifrica
e hipotenso arterial. A sindrome hepato-renal (SHR) acontece sobretudo no contexto
da cirrose heptica avanada, mas pode desenvolver-se tambm noutras doenas
hepticas crnicas associadas a insuficincia heptica severa e hipertenso portal,
designadamente na hepatite alcolica e na insuficincia heptica aguda.
2 PATOFISIOLOGIA
A caracterstica patofisiolgica essencial da SHR a vasoconstrio da circulao
renal. Os rins esto estruturalmente intactos. O mecanismo dessa vasoconstrio no
se encontra ainda esclarecido, postulando-se a interveno de mltiplos factores que
actuariam na circulao renal, uns aumentando a vasoconstrio, e outros diminuin-
do a vasodilatao.
No tocante aos factores vasoconstritores, reclama-se a interveno dos seguintes:
angiotensina II, noradrenalina, neuropeptdeo Y, endotelina, adenosina e leucotrienos.
Quanto aos factores vasodilatadores, apontam-se os seguintes: prostaglandinas,
xido ntrico, peptdeos natriurticos e sistema calicrana-quinina.
A teoria actualmente mais aceite na patognese da SHR, a teoria da vasodilatao
arterial, esquematizada no quadro seguinte:
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
595
Segundo esta teoria, a contraco do volume arterial resultante da vasodilatao
esplncnica, induziria uma progressiva activao de sistemas vasoconstritores (por ex.
renina-angiotensina, sistema venoso simptico) que determinariam vasoconstrio
no s a nvel renal, mas tambm noutros leitos vasculares (membros superiores e
inferiores). A rea esplncnica escaparia ao efeito dos vasoconstritores, nela persistin-
do uma acentuada vasodilatao, provavelmente em consequncia da libertao local
de potentes estmulos vasodilatadores. O desenvolvimento de hipoperfuso renal que
culminaria na SHR resultaria de uma activao mxima de sistemas vasoconstritores
renais no equilibrados por factores vasodilatadores, da diminuio na sntese des-
tes, ou do incremento na produo de factores vasoconstritores.
3 CLINICA E LABORATRIO
As manifestaes clnicas e laboratoriais da SHR incluem uma combinao de sinais
e sintomas relacionados com a insuficincia renal, circulatria e heptica.
a) Insuficincia renal
O incio pode ser rpido ou insidioso, associando-se a marcada reteno de sdio e
de gua, de que resultam ascite, edema e hiponatrmia de diluio.
Descrevem-se dois tipos de SHR:
Tipo I (SHR aguda)
SHR
CIRROSE
Vasodilatao arterial esplncnica
Contraco do volume arterial
Activao de factores de vasoconstrio
Vasoconstrio renal
Sntese renal
de
vasoconstritores
Sntese renal
de
vasodilatadores
Doenas do Aparelho Digestivo
596
Aumento rpido e progressivo do azoto ureico e da creatinina num perodo de
1-14 dias, com valores de azoto ureico entre 60-120 mgr/dl, e de creatinina entre
2-8 mgr/dl.
Anria ou oligria, e hiponatrmia.
Ictercia, encefalopatia, coagulopatia.
Tipicamente observada em doentes com hepatite alcolica ou insuficincia hepti-
ca fulminante.
Doentes frequentemente admitidos com valores normais de creatinina; a insuficin-
cia renal desenvolve-se durante a hospitalizao.
Prognstico mau: tempo de sobrevida mdia inferior a duas semanas.
Tipo II (SHR crnica)
Insuficincia heptica lentamente progressiva, com aumento da ureia e da creati-
nina ao longo de semanas ou meses.
Associada a doena heptica crnica avanada, ainda que relativamente estvel.
Responde temporariamente expanso do volume plasmtico.
Associada a ascite diurtico-resistente.
Sobrevida mais longa do que no tipo agudo, embora mais curta do que em doen-
tes com ascite sem insuficincia renal.
Dado que a SHR uma forma de insuficincia renal funcional, as caractersticas da
urina so as da azotmia pr-renal, com oligria, baixa concentrao de sdio na
urina, e aumento da osmolaridade urinria e da relao urina/plasma. Actualmente,
os ndices urinrios no so considerados essenciais para o diagnstico da SHR.
b) Insuficincia circulatria
A insuficincia circulatria dos quadros de SHR caracterizada por:
Aumento do dbito cardaco
Hipotenso arterial
Diminuio da resistncia vascular sistmica
Aumento do volume sanguneo total
Aumento da actividade dos sistemas vasoconstritores
Aumento da presso portal
Shunts porto-sistmicos
Diminuio da resistncia vascular esplncnica
Aumento da resistncia vascular renal
Aumento da resistncia nas artrias braquial e femural
Aumento da resistncia vascular cerebral
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
597
c) Insuficincia heptica
A maioria dos doentes evidenciam sinais de insuficincia heptica avanada, particu-
larmente ictercia, coagulopatia, deficiente estado nutricional e encefalopatia. Em cer-
tos casos a insuficincia heptica moderada. Em geral, os doentes com SHR tipo I
evidenciam graus mais avanados de insuficincia heptica.
4 FACTORES PRECIPITANTES
Nalguns doentes, a SHR desenvolve-se na ausncia de factores precipitantes aparen-
tes.
As infeces bacterianas, particularmente a peritonite bacteriana espontnea, so
considerados factores precipitantes. Em cerca de um tero dos doentes com PBE,
desenvolve-se um quadro de insuficincia renal, na ausncia de choque e apesar da
antibioterpia. Em aproximadamente um tero destes doentes, a insuficincia renal
reversvel, mas nos restantes o processo irrecupervel, mesmo que jugulada a
infeco (na maioria dos casos trata-se de SHR tipo I, com elevada mortalidade
intra-hospitalar).
Embora raramente, descrevem-se casos de SHR aps paracenteses teraputicas, sem
expanso plasmtica, razo porque alguns autores preconizam a administrao de
albumina i.v. quando se realizam paracenteses de grande volume.
A hemorragia gastrointestinal tem sido classicamente considerada um factor precipi-
tante de SHR. Contudo, esta rara em doentes com cirrose (10%), e ocorre usualmen-
te em doentes que desenvolvem choque hipovolmico, na maior parte dos casos
associado a hepatite isqumica, pelo que se postula que a insuficincia renal neste
contexto estar provvelmente relacionada com o desenvolvimento de necrose tubu-
lar aguda, no sendo de origem funcional.
5 DIAGNSTICO
A CRITRIOS DE DIAGNSTICO
O diagnstico de SHR baseia-se nos critrios apontados no quadro seguinte:
Doenas do Aparelho Digestivo
598
B DIAGNSTICO DIFERENCIAL
O diagnstico diferencial da SHR deve estabelecer-se com as seguintes entidades:
a) Necrose tubular aguda
Ocorre com relativa frequncia em doentes com cirrose e ascite, porque so amide
expostos a hipotenso (por ex. hemorragia), sepsis ou frmacos nefrotxicos. Pode
ser difcil estabelecer a diferena entre necrose tubular aguda (NTA) e SHR. Os doen-
tes com NTA apresentam usualmente um sedimento urinrio activo (cilindros granulo-
sos) e uma excreo urinaria de sdio > 10 mEq/l. No entanto h excepes, pelo que
este parmetro no fidedigno. O prognstico reservado, mas menos grave do que
o da SHR.
b) Insuficincia renal induzida por frmacos
Os AINEs, porque bloqueiam a sntese de prostaglandinas (vasodilatadores) podem
induzir um quadro de insuficincia renal.
Os aminoglicosdeos esto relativamente contra-indicados em doentes com ascite.
Podem induzir insuficincia renal e nomeadamente NTA.
Agentes de contraste radiolgico i.v.
Diurticos. Devem ser suspensos em todos os doentes com suspeita de SHR.
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
599
Critrios Major *
Baixa filtrao glomerular renal, traduzida em niveis sricos de creatinina > 1.5 mgr/dl ou
clearance da creatinina nas 24 horas inferior a 40 ml/minuto.
Ausncia de choque, infeco bacteriana, perdas fluidas e tratamento com frmacos
nefrotxicos.
Ausncia de recuperao sustentada da funo renal aps suspenso de diurticos e
expanso do volume plasmtico com 1.5 L de um expansor do plasma.
Proteinria inferior a 500 mgr/dia e ausncia de uropatia obstrutiva ou doena do parn-
quima renal no exame ecogrfico.
Volume urinrio inferior a 500 ml/dia.
Sdio urinrio inferior a 10 mEq/l.
Osmolaridade urinria > osmolaridade plasmtica.
Glbulos vermelhos na urina < 50 por campo.
Natrmia < 130 mEq/l.
* Todos presentes para o diagnstico de SHR
** No necessrios para o diagnstico; no entanto suportam a evidncia de SHR.
Critrios Adicionais **
c) Glomerulopatias
A crioglobulinmia e a nefropatia IgA podem induzir quadros confundveis com a SHR.
d) Azotmia pr-renal
A depleco do volume intravascular pode induzir azotmia pr-renal. o que pode
suceder com a utilizao de diurticos, com o vmito, a diarreia e paracenteses tera-
puticas sem reposio do volume intravascular. difcil distinguir entre azotmia
pr-renal e SHR com base no sdio urinrio, na diurese ou na clearance da creatini-
na. A existncia de um evento precipitante (por ex. vmito) e a evidncia clnica de
depleco de volume (por ex. alteraes ortostticas na presso arterial ou ritmo car-
daco, aumento do hematcrito e das protenas plasmticas) sugerem o diagnstico
de azotmia pr-renal, que melhora com a reposio do volume plasmtico.
Na tabela que segue, comparam-se os achados urinrios em vrias destas situaes:
C METODOLOGIA DE DIAGNSTICO
Histria e exame fsico: hemorragia gastrointestinal, sepsis (hemocultura, urocultura,
liquido asctico), vmito, diarreia, choque, insuficincia cardaca, coagulao vascular
disseminada.
Frmacos: reviso de ingesto corrente ou recente. Suspender diurticos.
Testes laboratoriais: creatinmia, azotmia, natrmia, osmolaridade, sumria de uri-
nas, recolhas das urinas das 24 horas para medir: dbito, sdio, creatinina, protenas
e osmolaridade.
Ecografia renal para excluso de uropatia obstrutiva.
Expanso do volume plasmtico com 1.5 litros de fluidos.
Rever causas especficas de insuficincia renal envolvendo o fgado:
Doenas do Aparelho Digestivo
600
ACHADOS URINRIOS EM VRIAS SITUAES CLNICAS
Cirrose com Azotmia SHR NTA
ascite pr-natal
Na urinrio (mEq/l) Usualmente < 40 < 10 < 10 >30
Dbito urinrio Normal Varivel
Sedimento urinrio Normal Normal Normal Cilindros
Osmolaridade (urina) Usualmente < soro > soro > soro = soro
FENa * < 1 < 1 < 1 > 1
Creatinina (urina : plasma) < 30:1 > 30:1 < 20:1
Resposta expanso do volume Varivel
* FENa (excreo fraccionada de Na)
Fgado previamente normal
Insuficincia cardaca
Choque
Sindrome HELLP (hemolise, testes hepticos , plaquetas )
Infeco (leptospirose, tuberculose, malria)
Doenas do conectivo
Sindrome de Reye
Doenas afectando fgado e rins
Rim poliqustico, doena de Caroli
Amiloidose
Sarcoidose
Crioglobulinmia por hepatite C
Poliarterite nodosa por hepatite B
Nefropatia IgA na doena heptica alcolica
Insuficincia renal na doena heptica crnica
Induzida por frmacos
Toxinas
Depleco do volume intravascular
Sindrome hepato-renal (aguda, crnica)
6 TRATAMENTO
A TRATAMENTO STANDARD
Restrio sdica (at 2 gr/dia).
Se natrmia < 125 mEq/l, restrio de fluidos at 1500 cc/dia.
Tratar infeces e hemorragia digestiva.
Expanso com pelo menos 1.5 litros de fluidos intravasculares.
Avisar o doente e/ou famlia do mau prognstico.
Considerar a hiptese de transplantao heptica.
B TRATAMENTOS ESPECFICOS
Considerar as seguintes hipteses:
Ornipressina (anlogo da vasopressina)
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
601
Aprotidina i.v.: melhora a natriurese
TIPS: pode melhorar a funo renal
Tratamentos ineficazes:
Hemodilise, dilise peritoneal: problemas de hipotenso, hemorragia e infeco.
A primeira pode ser til na fase pr-transplante
Simpatectomia lombar
Expanso do volume plasmtico
Vasodilatadores intra-renais: prostaglandinas A1 e E1, misoprostol, agonistas
-adrenrgicos, acetilcolina, papaverina
Vasodilatadores ou vasoconstritores sistmicos: bloqueadores dos canais de clcio,
dopamina
Shunts de LeVeen ou de Denver
Paracentese
Head-out water immersion
7 PROGNSTICO
O prognstico da SHR mau. Sobrevida mdia: 10-14 dias. 75% dos doentes morrem
ao cabo de 3 semanas e 90% s 8 semanas. A sobrevida mais longa nos doentes
com SHR tipo II.
Cerca de 4-10% dos doentes podem recuperar de insuficincia renal severa, com
sobrevida prolongada.
2. ENCEFALOPATIA HEPTICA
1 DEFINIO
A encefalopatia heptica (EH) compreende um amplo espectro de alteraes neuro-
psiquitricas que ocorrem em doentes com disfuno heptica significativa, relaciona-
da com uma das seguintes situaes:
Insuficincia heptica aguda
Cirrose com ou sem shunts porto-sistmicos
Shunts porto-sistmicos sem cirrose
A EH associada a insuficincia heptica aguda designada de ALFA-HE (acute liver fai-
lure associated hepatic encephalopathy), na recente nomenclatura internacional.
Doenas do Aparelho Digestivo
602
As formas de EH associadas a doena heptica crnica e/ou shunt porto-sistmico,
podem ter uma variegada apresentao clnica:
EH subclnica
Episdios simples ou recorrentes de EH
EH crnica
Degenerescncia hepatocerebral adquirida (muito rara)
2 PATOFISIOLOGIA
ainda desconhecida a patofisiologia da EH. Trs conceitos devem ser sublinhados:
Substrato anatmico na rea esplncnica
Debate-se desde h longa data a contribuio relativa da disfuno hepatocelular v.
shunt porto-sistmico na patognese da encefalopatia. Postula-se actualmente que a
posio mais correcta a que defende que a EH resulta da combinao da disfuno
heptica e das colaterais porto-sistmicas.
Toxinas circulantes
A natureza das toxinas em circulao responsveis pela EH, continua a ser um tpico
controverso, desde as primeiras descries do papel patognico da amnia. Os facto-
res que tm sido implicados na patognese da EH, encontram-se explicitados no qua-
dro seguinte:
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
603
1. Amnia
2. Toxinas sinrgicas
Mercaptanos, fenis, cidos gordos de cadeia curta, potenciam o efeito da amnia no
crebro.
3. Falsos neurotransmissores
Desequilbrio entre o aumento dos aminocidos aromticos e a diminuio dos amino-
cidos de cadeia ramificada, favorece a entrada dos primeiros no crebro.
4. GABA/Benzodiazepinas endgenas
A activao do tnus GABA central seria dependente de substncias (endozepinas) que
interagem com receptores do GABA (cido gama-aminobutrico). Estudos recentes apon-
tam para a activao de receptores perifricos das benzodiazepinas.
5. Citocinas
Postulou-se recentemente um papel patognico do TNF-, IL-1 e IL-6.
FACTORES IMPLICADOS NA PATOGNESE DA EH
Natureza das anomalias cerebrais
A EH uma disfuno metablica cerebral reversvel, no se detectando destruio
neuronal. No entanto, quer nas formas agudas de EH, quer nas formas crnicas, h
um achado consistentemene detectado: a tumefaco dos astrcitos, nomeadamente
os astrcitos Alzheimer tipo II. Esta tumefaco seria devida acumulao de gluta-
mina, um produto de decomposio da amnia. Estas anomalias patolgicas apontam
para o papel importante dos astrcitos na gnese da encefalopatia, de tal forma que
a EH actualmente considerada uma gliopatia.
Apesar das vrias hipteses patognicas postuladas, a neurotoxicidade pela amnia
continua a ser a teoria com melhor suporte experimental.
3 DIAGNSTICO
O diagnstico da encefalopatia heptica apoia-se nos seguintes critrios:
A Dados sugestivos de doena heptica oculta e/ou shunt porto-sistmico
Histria passada de toxicodependncia (hepatite B ou C)
Histria familiar de cirrose (hemocromatose)
Residncia em zonas endmicas de esquistossomiase
Sepsis umbilical (trombose de veia esplncnica)
Histria de pancreatite (trombose da veia esplnica)
Histria passada de hepatite (hepatite B ou C, hepatite alcolica)
Tratamento com drogas hepatotxicas
B Sinais fsicos sugestivos de hepatopatia
Fetor hepaticus
Aranhas vasculares
Ginecomastia
Rarefaco pilosa (no homem)
Atrofia testicular
Atrofia muscular
Ictercia e equimoses
Anel de Kaiser-Fleischer
Esplenomeglia e/ou hepatomeglia
Ascite e/ou edema. Circulao colateral
Amenorreia
C Anomalias nos testes laboratoriais
Amonimia
Hipergamaglobulinemia
Leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia
Nveis de glutamina no liquido cefalo-raquidiano
Doenas do Aparelho Digestivo
604
Diminuio na relao aminocidos de cadeia ramificada/aminocidos aromticos
Testes serolgicos das hepatites
D Perturbaes do estado mental e neuro-musculares
O espectro destas perturbaes poder ser esquematizado da seguinte forma:
4 TRATAMENTO
No tratamento da EH fundamental distinguir trs objectivos:
Excluir outras causas de encefalopatia
Identificar factores precipitantes
Tratar a encefalopatia heptica
a) Excluir outras causas de encefalopatia
Os doentes com disfuno significativa heptica podem apresentar quadros encefalo-
pticos distintos da encefalopatia heptica que temos vindo a descrever, ditados
pelas seguintes causas:
Sepsis
Hipoxmia
Hipercapnia
Acidose
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
605
Grau de Estado de Funo intelectual Personalidade / Distrbios
encefalopatia conscincia comportamento neuro-musculares
GRAU I Hipersnia Limitao nos clculos Euforia ou depresso Tremor metablico
Insnia (ligeira) Verbosidade Incoordenao muscular
Inverso no Capacidade de Irritabilidade Perturbao na escrita
ritmo do sono ateno Asterixis
Resposta lenta
GRAU II Letargia Desorientao temporal Perda da inibio Fala pouco clara
Sonolncia Grave limitao nos Alteraes bvias da Reflexos hipoactivos
clculos personalidade Ataxia
Amnnia para eventos Ansiedade/apatia
passados Comportamentos
inapropriados ou
bizarros
GRAU III Confuso Desorientao espacial Parania ou medo Reflexos hiperactivos
Semi-estupor Amnsia progressiva Fria Nistagmo
Incapacidade de Babinski, Clonus
clculo Rigidez
GRAU IV Estupor Perda da identidade Pupilas dilatadas
Inconscincia prpria Opistotonus
Funo intelectual Coma
inexistente
Urmia
Sensibilidade do sistema nervoso central a drogas
Alteraes electrolticas profundas
Delirium tremens
Sindrome de Wernicke-Korsakoff
Hemorragia intracerebral
Sepsis do sistema nervoso central
Edema cerebral / hipertenso intracraneana
Hipoglicmia
Encefalopatia pancretica
Intoxicao por frmacos
b) Identificar factores precipitantes
A maioria dos doentes com doena heptica severa (exceptuando o caso da ALFA-HE),
apresentam um factor precipitante identificvel responsvel pela induo de um epis-
dio de EH. A correco desses factores fundamental no tratamento da EH. Foram iden-
tificados os seguintes factores potencialmente precipitantes de quadros de EH:
Hemorragia gastrointestinal
Sepsis
Obstipao
Sobrecarga proteica na dieta
Desidratao
Frmacos activos sobre o sistema nervoso central
Hipocalimia / alcalose
Ps-anestesia
M adeso teraputica com lactulose
Mtodos de descompresso portal (por ex. TIPS)
Obstruo intestinal ou leo
Urmia
Desenvolvimento de hepatocarcinoma
c) Tratar a encefalopatia
I Episdio agudo
A teraputica actual da encefalopatia heptica baseia-se nos seguintes princpios:
a) Diminuir o teor nitrogenado do intestino
b) Induzir a eliminao extra-intestinal de amnia
c) Neutralizar as anomalias da neuro-transmisso central
Doenas do Aparelho Digestivo
606
a) Diminuir o teor nitrogenado do intestino
Protenas na dieta.
Recomenda-se restrio protdica, no ultrapassando a dose de 1-1.5 gr/kilo de peso
corporal, distribuda fraccionadamente ao longo do dia. Recomendam-se protenas de
vegetais e cereais.
Catarse.
A limpeza intestinal diminui a amonimia no doente cirrtico, porque reduz a flora
bacteriana no clon e o contedo intestinal de amnia. A irrigao, via sonda naso-
gstrica, com uma soluo isotnica de manitol, 1 gr/kg, tem efeito benfico.
Provvelmente tero o mesmo efeito as solues de limpeza do clon para realizao
de colonoscopia.
Dissacardeos no absorvveis.
A lactulose e o lactitol continuam a posicionar-se como frmacos de 1 linha no trata-
mento da EH. Como no so desdobrados no intestino delgado por falta das respec-
tivas dissacaridases, estes produtos atingem o clon, sendo a metabolizados pela
flora intestinal, com formao de cidos actico e lctico. A acidificao do clon induz
catarse e favorece a passagem de NH3 para o lume do clon, onde as bactrias uti-
lizam a amnia como substrato metablico. Os nveis da amonimia baixam, bem
como o pool total da ureia do organismo.
O objectivo da teraputica conseguir dois ou trs movimentos de fezes pastosas por
dia, o que usualmente se consegue com 15-45 cc destes produtos, duas vezes por
dia. O lactitol tem um sabor mais agradvel do que a lactulose. Ambos os produtos
podem ser tambm aplicados em enema, provavelmente com resultados mais rpidos,
sobretudo em situaes encefalopticas de grau avanado. Utiliza-se um clister de
1000 cc (300 cc de lactulose + 700 c de gua tpida).
Antibiticos.
Antes do advento da lactulose, a neomicina era rotineiramente utilizada. Actualmente
preferem-se os dissacardeos. No entanto, os clisteres de neomicina tm efeito simi-
lar aos da lactulose, nas formas agudas de EH, quando ministrados durante 5 dias. A
neomicina tambm evidencia eficcia na encefalopatia aguda, se ministrada per os
na dose de 3-6 gr/dia, dividida ao longo do dia. O tratamento crnico com neomici-
na evidenciou riscos de nefro e ototoxicidade. Em alternativa tem sido utilizado tam-
bm o metronidazol, que deve ser manipulado com prudncia dado que a eliminao
heptica reduzida, podendo desenvolver neurotoxicidade. A dose inicial deve ser de
500 mgr/dia.
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
607
b) Induzir a eliminao extra-intestinal de amnia
Zinco oral.
O zinco um co-facor de todas as enzimas do ciclo da ureia, pelo que a sua admi-
nistrao melhora a ureognese. O acetato de zinco, 220 mgr duas vezes por dia, est
especialmente indicado nos doentes com m nutrio.
Aspartato de ornitina.
Alguns estudos tm evidenciado o seu benefcio, quer por via i.v. quer per os. Esta
combinao de aminocidos fornece substrato para o ciclo da ureia e promove a sn-
tese de glutamina a partir da amnia. A infuso e.v. de ornitina aspartato na dose
de 20 gr/dia, durante 7 dias, tem revelado utilidade.
Benzoato de sdio.
Num estudo controlado, apurou-se que 10 gr de benzoato de sdio tinha efeito simi-
lar lactulose, num contexto de encefalopatia aguda.
c) Neutralizar anomalias da neurotransmisso
Flumazenil.
Em administrao e.v., este antagonista dos receptores das benzodiazepinas revelou
benefcio no tratamento de casos de EH aguda.
Aminocidos de cadeia ramificada/bromocriptina.
Estudos recentes revelaram benefcio na utilizao deste tipo de aminocidos nos
estdios iniciais da EH. A bromocriptina, na dose de 30 mgr/dia, revelou benefcio cli-
nico no tocante sintomatologia extra-piramidal.
II Formas crnicas de EH (tratamento de manuteno)
Lactulose (30 cc 2x 4x/dia), lactitol (12 gr 4x/dia) ou lactose (15-20 gr 4x/dia)
Dieta proteica baseada em vegetais
Dieta oral enriquecida com aminocidos de cadeia ramificada
Zinco oral
Outras hipteses teraputicas: benzoato de sdio (5 gr per os 2x/dia); aspartato de
ornitina (6 gr per os 3x/dia).
III Outras opes para EH intratvel ou recorrente
Transplantao heptica
Modificao de shunts cirrgicos ou TIPS existentes
TIPS na sindrome de Budd-Chiari
Excluso do clon (virtualmente abandonada)
Tromblise radiolgica da veia porta + TIPS
Doenas do Aparelho Digestivo
608
3. SINDROMES HEPATO-PULMONARES
As doenas hepticas com hipertenso portal podem induzir aumento do fluxo, circu-
lao hiperdinmica e desequilbrio entre vasoconstritores, vasodilatadores e outros
mediadores metabolizados ou sintetizados pelo fgado. As consequncias pulmonares
da disfuno heptica podem ter relevncia clnica significativa, distinguindo-se as
seguintes entidades:
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
609
Sindrome hepato-pulmonar Dilataes vasculares pulmonares induzindo vrios
graus de hipoxmia
Hipertenso porto-pulmonar Vasoconstrio pulmonar/obliterao com ev. insuficin-
cia cardaca direita
Deficincia em 1-antitripsina Enfisema panacinar com obstruo ao fluxo expiratrio
Hidrotrax heptico Efuso pleural (transudato) com subsequente atelecta-
sia pulmonar
CONSEQUNCIAS PULMONARES DA DOENA HEPTICA AVANADA
Entidade Achado Clinicopatolgico Predominante
1 SINDROME HEPATO-PULMONAR
caracterizada pela trade: doena heptica, hipoxmia arterial e dilataes vascula-
res intrapulmonares. Estas dilataes so pr-capilares e capilares, ocorrendo ainda
comunicaes arterio-venosas. A hipoxmia resulta de um abaixamento da relao
ventilao/perfuso (ventilao com excesso de perfuso), e dos shunts anatmicos
(perfuso sem ventilao).
A doena heptica crnica acompanha-se de hipertenso portal na maioria dos casos,
e a hipoxmia traduz-se em valores de PaO2 < 70 mmHg ou em gradiente alveolo-arte-
rial de oxignio > 20 mmHg. As dilataes vasculares pulmonares podem ser eviden-
ciadas de forma no invasiva por ecocardiografia contrastada ou mediante perfuso
pulmonar com tecncio marcado com macroagregados de albumina (
99m
TcMAA). A per-
fuso pulmonar radioisotpica permite a quantificao do grau de dilatao vascular
e assiste na distino entre causas vasculares e no vasculares da hipoxmia. Em 20-
30% dos doentes coexistem outros problemas pulmonares. A angiografia deve reser-
var-se para doentes com hipoxmia severa e resposta precria ao oxignio inspirado
a 100%, nos quais poder tentar-se a emboloterpia para obliterao das comunica-
es arterio-venosas.
A transplantao heptica pode resultar na completa resoluo desta sindrome, que
alis em muitos centros uma indicao para essa interveno, sobretudo na idade
peditrica. A resoluo da sindrome pode requerer at 15 meses aps o transplante.
At ao momento, no foram identificados os mediadores especficos vasculares que
esto na base da sindrome hepato-pulmonar. Alguns estudos postulam um aumento
da actividade da sntese do xido ntrico no leito endotelial pulmonar.
2 HIPERTENSO PORTO-PULMONAR
Est actualmente reconhecido que em cerca de 20% dos doentes com doena hep-
tica avanada e hipertenso portal pode ocorrer um quadro de hipertenso arterial
pulmonar (presso mdia na artria pulmonar > 25 mmHg).
A etiologia desta situao prende-se com uma associao complexa entre o estado
hiperdinmico com elevado fluxo circulatrio, um excessivo volume plasmtico cen-
tral, e fenmenos pulmonares de vasoconstrio/obliterao no emblica. A designa-
o de hipertenso porto-pulmonar deve ser reservada para este ltimo processo, que
raro (< 4%).
Os critrios de diagnstico da hipertenso porto-pulmonar baseiam-se nos seguintes
achados:
Hipertenso portal
Presso arterial pulmonar mdia > 25 mmHg
Resistncia vascular pulmonar > 120 dines.s.cm-5
O rastreio da hipertenso porto-pulmonar feito por Rx do trax, ECG e, sobretudo,
ecocardiografia Doppler transtorcica, para estimar a presso arterial sistlica pulmo-
nar. Em certos casos h necessidade de realizar cateterismo cardaco direito para
caracterizar adequadamente o perfil hemodinmico do doente.
Ao contrrio das limitadas opes teraputicas mdicas na sindrome hepato-pulmo-
nar, tem sido promissora, no mbito da hipertenso porto-pulmonar, a utilizao de
epoprostenol i.v., um anlogo da prostaglandina (PGI2) que evidencia potentes efei-
tos de vasodilatao arterial pulmonar. Efeitos secundrios eventuais: trombocitope-
nia e esplenomeglia progressiva.
Os resultados da transplantao heptica em doentes portadores de hipertenso
porto-pulmonar, so bastante inferiores aos obtidos na sindrome hepato-pulmonar. A
mortalidade ps-transplante superior a 40%.
Uma investigao imunopatolgica recente evidenciou uma deficincia relativa na
prostaciclina sintase em retalhos vasculares pulmonares de doentes com hipertenso
pulmonar severa e hipertenso portal.
Doenas do Aparelho Digestivo
610
3 DEFICINCIA EM 1-ANTITRIPSINA
A disfuno pulmonar (enfisema panacinar, bronquiectasias e inflamao das vias
areas) induzida por deficincia em 1-antitripsina (<800 mgr/l; normal 1200-2200)
representa em essncia uma consequncia vascular pulmonar de uma afeco hepti-
ca.
A sntese anormal da protena , resulta de uma mutao gentica localizada no cro-
mossoma 14, que co-dominantemente expresso no hepatcito. A protena anmala
acumula-se nas clulas hepticas, no sendo libertada na circulao venosa adequa-
damente. A disfuno pulmonar correlaciona-se com a severidade dessa deficincia,
que por sua vez se correlaciona com a combinao de certos alelos. As manifestaes
pulmonares mais comuns e significativas relacionam-se com os alelos Z ou S, espe-
cialmente nos fentipos ZZ e SZ.
A expresso clnica mais dramtica o enfisema bolhoso, com severa obstruo expi-
ratria. Em certos casos, raros, pode ocorrer a combinao de manifestaes hepti-
cas e pulmonares severas. Se a sobrevida prolongada, deve ser considerado o risco
de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Em teoria, a transplantao hepti-
ca com normalizao da concentrao da protena , no soro, deveria estabilizar a
progresso da disfuno pulmonar.
4 HIDROTRAX HEPTICO
Em menos de 10% de pacientes com cirrose heptica, desenvolve-se um derrame pleu-
ral unilateral ou bilateral, cuja patogenia idntica da ascite, donde a designao
de hidrotrax heptico. Essas efuses pleurais so transudatos e raramente aparecem
na ausncia de ascite.
A presso negativa no espao pleural condicionada pela inspirao, e a presso peri-
toneal, facilita a penetrao de fluido atravs de pequenos hiatos diafragmticos.
Pode ocorrer dispneia e hipoxmia, por atelectasia pulmonar e estabelecimento de
shunts fisiolgicos. O fluido pleural deve ser puncionado e analisado, se existe hepa-
tocarcinoma, dor ou febre.
O tratamento mdico inclui teraputica diurtica agressiva. No doente com ascite
refractria e toracocenteses repetidas, a colocao de um TIPS pode ser a medida
mais adequada. A obliterao do espao pleural tem sido reportada em casos selec-
cionados. O hidrotrax heptico refractrio, induzido por ascite incontrolvel, uma
indicao para transplantao heptica.
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
611
4. DISFUNO ENDCRINA
A presena de cirrose heptica avanada condiciona invariavelmente desregulao na
funo de mltiplos sistemas endcrinos. Essa disfuno endcrina inclui as seguin-
tes sindromes:
Doenas do Aparelho Digestivo
612
COMENTRIOS
Os efeitos da cirrose sobre as hormonas sexuais e tiroideias, so os mais frequentes
e os que evidenciam mais impacto clnico. Estas anomalias endcrinas so frequente-
mente subvalorizadas, no entanto cerca de 60% dos doentes com cirrose apresentam
histria de diminuio da lbido e impotncia.
A feminizao e o hipogonadismo no homem com cirrose resultam da diminuio em
testosterona e aumento relativo nos estrognios em circulao. As caractersticas cl-
nicas da feminizao incluem: perda de lbido, diminuio na contagem dos esperma-
tozides, reduo nas massas musculares, atrofia testicular, aranhas vasculares, rare-
faco pilosa. A ginecomastia tambm frequente, embora se pense que no resulta
somente do excesso de estrognios. Na mulher, as anomalias endcrinas conduzem a
amenorreia, alteraes menstruais e perda de lbido.
O hipotiroidismo relativamente comum na cirrose heptica, embora as suas mani-
festaes clnicas no sejam especficas, confundindo-se com as da cirrose. Todos os
doentes com esta enfermidade devem ser explorados no tocante funo tiroideia:
determinao dos nveis das hormonas da tiride e da TSH.
Hemocromatose Insuficincia das gnadas
Disfuno hipotalmica
Diabetes
Cirrose Biliar Primria Doena tiroideia auto-imune
Osteopatia
Cirrose alcolica Insuficincia das gnadas
Disfuno hipotalmica
Feminizao e hipogonadismo Estrognio
Testosterona livre e total
Disfuno hipotalmica
Atrofia testicular
Hipotiroidismo Triodotironina
Globulina-tiroxina
Diabetes Glicmia em jejum
Resistncia insulina
SINDROMES ENDCRINAS ASSOCIADAS CIRROSE
MANIFESTAO ENDCRINA CARACTERSTICAS DIAGNSTICAS
O tratamento do hipotiroidismo melhora a fadiga, as anomalias metablicas e outras
manifestaes sistmicas da diminuio na produo da hormona tiroideia.
Vrios ensaios clnicos avaliaram o papel da testosterona no tratamento da cirrose no
homem com feminizao e hipogonadismo. No se confirmaram as expectativas ini-
cialmente criadas.
5. DISTRBIOS DA COAGULAO
1 INTRODUO
Dado que o fgado desempenha um papel complexo e central na hemostase, no sur-
preende a frequncia de hemorragias epistaxis, gengivorragias, equimoses, hemor-
ragias do tracto digestivo nos doentes com cirrose avanada.
No grfico seguinte, apontam-se as anomalias hemostticas que podem acontecer na
cirrose heptica:
HEMORRAGIA
Plaquetas
Funo das plaquetas
Factores XI, IX, X,
VII, II, XIII
Fibrinognio
Disfibrinogenemia
Fibrinlise
extrnseca
2-Antiplasmina
Factor VIII: C
Inibidores da
coagulao:
Antitrombina III
Protena C
Protena S
Fibrinlise
intrnseca
Plasminognio
PAI-1
Trombose
Defeito na hemostase
primria
Formao de fibrina
Dissoluo da fibrina
Coagulao vascular
disseminada
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
613
2 PATOFISIOLOGIA
Esquematicamente, so os seguintes os mecanismos patofisiolgicos das anomalias
da coagulao:
Trombocitopenia
Esplenomeglia (hiperesplenismo)
Destruio imunolgica (IgG)
Produo diminuda de trombopoietina pelo fgado
Deficincia em cido flico e efeito txico directo do lcool (na cirrose alcolica)
Disfuno plaquetar
Efeito inibitrio dos FDP na agregao plaquetar
Dislipidmia adquirida
Etanol
Defeito intrnseco das plaquetas
Anomalias nos factores de coagulao
Diminuio da sntese heptica dos factores vit. K dependentes VII, X, IX e II
Sntese heptica de factor V
Fibrinognio: reduo da sntese heptica, perda em espaos extravasculares
(ascite), consumo acelerado mediado pela trombina, catabolismo aumentado
Disfibrinogenmia (polimerizao anormal da fibrina): excessivo teor em cido si-
lico
Coagulopatia de consumo (coagulao vascular disseminada)
Libertao de substncias pr-coagulantes a partir de hepatcitos necrosados
Endotoxinas de origem intestinal
Deficincia em antitrombina III
Fibrinlise anormal (acelerada)
Activao do plasminognio no plasma (TPA )
Antiplasmina a2
Fibrinlise endgena
Coagulao vascular disseminada
3 AVALIAO LABORATORIAL
Em doentes com suspeita de cirrose, sobretudo em presena de discrasia sangunea,
ou se o doente vai ser submetido a mtodos invasivos ou cirurgia, fundamental
estudar o perfil hemosttico, integrado usualmente pela contagem de plaquetas,
Doenas do Aparelho Digestivo
614
tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial (TTP). Alguns autores
propem tambm a mensurao do tempo de sangria para estudo da funo das pla-
quetas, se bem que no seja um teste muito fivel. Em situaes mais severas,
importante solicitar outros testes: fibrinognio, tempo de trombina (TT), factor V, fac-
tor VII e os FDP (produtos de degradao do fibrinognio/fibrina).
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
615
4 TRATAMENTO
A abordagem teraputica da insuficincia hemosttica deve ser individualizada em
funo da natureza, local e extenso da hemorragia. Alm disso, a correco do dis-
trbio hemosttico deve estar intimamente ligado e coordenado com outras medidas
teraputicas fundamentais.
No mbito da correco da hemostase, devemos recordar a eventual necessidade de:
Transfuso de plaquetas.
Pode ser til em doentes com trombocitopenia marcada e hemorragia severa. A apli-
cao de TIPS pode corrigir parcialmente a trombocitopenia, assim como a emboliza-
o esplnica parcial (complicaes significativas). Na preparao para cirurgia,
importante fornecer concentrado de plaquetas para atingir valores em torno de
100.000 /l. A endoscopia, a paracentese, a toracocentese e a puno lombar podem
ser realizadas em segurana com valores acima de 50.000/l. Ainda no se encontra
suficientemente testado o interesse clnico da trombopoietina recombinante.
Teraputica com heparina.
Proposta inicialmente para situaes de coagulao vascular disseminada, uma ati-
tude teraputica actualmente no recomendada.
Concentrados de antitrombina III.
Benefcio clnico ainda no suficientemente testado. Produto caro, com risco de trans-
misso de vrus.
Inibidores de fibrinlise (cido aminocaprico, cido tranexmico).
Actualmente no recomendados na rotina.
Cirrose (estvel) N ou N ou ou N ou N N ou N ou
Cirrose (descompen.) ou N ou N ou N N ou
Deficincia em Vit. K N ou N N N N N
ANOMALIAS HEMOSTTICAS NA DOENA HEPTICA E NA DEFICINCIA EM VIT. K
Condio Plaquetas TP TTP Factor V Factor VII TT Fibrinognio FDP
Plasma fresco.
Contm todos os factores da coagulao e inibidores presentes na circulao, sendo
por isso teoricamente o agente mais indicado para a correco das anomalias da
hemostase. Na prtica, contudo, a substituio efectiva difcil dada a grande quan-
tidade de plasma requerida para corrigir um tempo de protrombina muito alongado.
Alm disso, a semi-vida dos factores V e VII curta, pelo que so necessrias infu-
ses continuadas ou intermitentes de plasma. Por outro lado, deve considerar-se a
hiptese, ainda que remota, de transmisso de vrus ou de outros agentes patogni-
cos.
Crioprecipitados de protenas.
teis nas situaes com marcada hipofibrinogenmia ou disfibrinogenmia.
Factor VIIa recombinante.
Evidencia eficcia na normalizao do tempo de protrombina moderadamente prolon-
gado, em indivduos com cirrose sem hemorragia activa. Esto em curso ensaios tera-
puticos do produto no mbito das hemorragias na cirrose heptica com coagulopa-
tia.
Doenas do Aparelho Digestivo
616
FGADO - Complicaes Sistmicas da Doena Heptica
617
REFERNCIAS
Korula J. Hepatorenal syndrome. In: Kaplowitz N (Ed.). Liver and Biliary Diseases. Williams & Wilkins 1992:542-551.
Blei AT. Hepatic encephalopathy. In: Kaplovitz N (Ed.). Liver and Biliary Diseases. Williams & Wilkins 1992:552-565.
Ferenci P, Mller C. Hepatic encephalopathy; treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B (Eds.). Evidence based
Gastroenterology and Hepatology. BMJ Books 1999:443-455.
Mullen KD. Hepatic encephalopathy. In: Friedman LS, Keeffe EB. Handbook of Liver Disease. Churchill Livingstone 1998:185-196.
Pyne J, Morgan TR. Hepatorenal syndrome. In: Friedman LS, Keeffe EB. Handbook of Liver Disease. Churchill Livingstone 1998:167-184.
Joist JH, Eby CS. Complications of cirrhosis: hemostatic failure. In: Bacon BR, DiBisceglie AM (Eds.). Liver Disease.
Diagnosis and Management. Churchill Livingstone 2000:261-268.
Nunes FA, Olthoff KM, Lucey MR. Liver transplantation: indications, pretransplant evaluation, and short-term post-transplant management.
In: Bacon BR, DiBisceglie AM (Eds.). Liver Disease. Diagnosis and Management. Churchill Livingstone 2000:383-391.
Marks JB, Skyler J. The liver and the endocrine system. In: Schiffs Diseases of the Liver (8 Ed.). Lippincott-Raven 1999:477-488.
Krowka MJ. Pulmonary manifestations of liver disease. In: Schiffs Diseases of the Liver (8 Ed.). Lippincott-Raven 1999:489-502.
Rutherford CJ, Frenkel EP. Hemostatic Disorders in Liver Disease. In: Schiffs Diseases of the Liver (8 Ed.). Lippincott-Raven 1999:583-598.
Dasarathy S, Mullen KD. Therapy of porto-systemic encephalopathy In: Wolfe M (Ed.). Therapy of Digestive Disorders.
W.B Saunders Co. 2000:385-397.
Epstein M. Hepatorenal syndrome. In: Wolfe M (Ed.). Therapy of Digestive Disorders. W.B Saunders Co. 2000:398-404.
Abrams GA, Fallon MB. The hepatopulmonary syndrome. Clin Liver Dis 1997;1(1):185-200.
Tom LFFS. O triptofano, o amonaco e a encefalopatia heptica. Tese de doutoramento (Ed. do autor). Coimbra 1992.
Freitas D. Sindrome hepato-renal. In: Freitas D (Ed.). Temas de Gastrenterologia (2 vol) Boehringer-Ingelheim 1986:91-104.
Freitas D. Encefalopatia hepticas. In: Freitas D (Ed.). Temas de Gastrenterologia (2 vol) Boehringer-Ingelheim 1986:105-126.
Gentilini P, Vizzutti F, Gentilini A, La Villa G. Ascites and hepatorenal syndrome. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Apr;13(4):313-6.
Bataller R, Gines P, Arroyo V, Rodes J. Hepatorenal syndrome. Clin Liver Dis. 2000 May;4(2):487-507.
Conn HO. Prolonged infusion of ornithine plus dopamine in the treatment of the hepatorenal syndrome: a breakthrough? Am J
Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3645-6.
Gines P. Diagnosis and treatment of hepatorenal syndrome. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Dec;14(6):945-57.
Duhamel C, Mauillon J, Berkelmans I, Bourienne A, Tranvouez JL. Hepatorenal syndrome in cirrhotic patients: terlipressine is a safe and
efficient treatment; propranolol and digitalic treatments: precipitating and preventing factors? Am J Gastroenterol. 2000 Oct;95(10):2984-5.
Cardenas A, Uriz J, Gines P, Arroyo V. Hepatorenal syndrome. Liver Transpl. 2000 Jul;6(4 Suppl 1):S63-71.
Uriz J, Gines P, Cardenas A, Sort P, Jimenez W, Salmeron JM, Bataller R, Mas A, Navasa M, Arroyo V, Rodes J. Terlipressin plus albumin infusion:
an effective and safe therapy of hepatorenal syndrome. J Hepatol. 2000 Jul;33(1):43-8.
Brensing KA, Textor J, Perz J, Schiedermaier P, Raab P, Strunk H, Klehr HU, Kramer HJ, Spengler U, Schild H, Sauerbruch T. Long term
outcome after transjugular intrahepatic portosystemic stent-shunt in non-transplant cirrhotics with hepatorenal syndrome: a phase II study.
Gut. 2000 Aug;47(2):288-95.
McCormick PA. Improving prognosis in hepatorenal syndrome. Gut. 2000 Aug;47(2):166-7.
Arroyo V. New treatments for hepatorenal syndrome. Liver Transpl. 2000 May;6(3):287-9.
Dagher L, Patch D, Marley R, Moore K, Burroughs A. Review article: pharmacological treatment of the hepatorenal syndrome in cirrhotic
patients. Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14(5):515-21.
Gentilini P, Laffi G, La Villa G, Romanelli RG, Blendis LM. Ascites and hepatorenal syndrome during cirrhosis: two entities or the continuation
of the same complication? J Hepatol. 1999 Dec;31(6):1088-97.
Gentilini P, La Villa G, Casini-Raggi V, Romanelli RG. Hepatorenal syndrome and its treatment today.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):1061-5.
Moore K. Renal failure in acute liver failure. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Sep;11(9):967-75.
Gulberg V, Bilzer M, Gerbes AL. Long-term therapy and retreatment of hepatorenal syndrome type 1 with ornipressin and dopamine.
Hepatology. 1999 Oct;30(4):870-5.
Bernardi M, Blendis L, Burroughs AK, Laffi G, Rodes J, Gentilini P. Hepatorenal syndrome and ascitesquestions and answers.
Liver. 1999;19(1 Suppl):15-74.
Gentilini P. Hepatorenal syndrome and ascites-an introduction. Liver. 1999;19(1 Suppl):5-14.
Blendis L, Wong F. More therapy for hepatorenal syndrome. Gastroenterology. 1999 May;116(5):1264-6.
Kaffy F, Borderie C, Chagneau C, Ripault MP, Larzilliere I, Silvain C, Beauchant M. Octreotide in the treatment of the hepatorenal syndrome
in cirrhotic patients. J Hepatol. 1999 Jan;30(1):174.
Laccetti M, Manes G, Uomo G, Lioniello M, Rabitti PG, Balzano A. Flumazenil in the treatment of acute hepatic encephalopathy in cirrhotic
patients: a double blind randomized placebo controlled study. Dig Liver Dis. 2000 May;32(4):335-8.
Blei AT, Cordoba J. Hepatic Encephalopathy. Am J Gastroenterol. 2001 Jul;96(7):1968-76.
Schliess F, Haussinger D. Hepatic encephalopathy and nitric oxide. J Hepatol. 2001 Apr;34(4):610-2.
Das A, Dhiman RK, Saraswat VA, Verma M, Naik SR. Prevalence and natural history of subclinical hepatic encephalopathy in cirrhosis.
J Gastroenterol Hepatol. 2001 May;16(5):531-5.
Ong JP, Mullen KD. Hepatic encephalopathy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Apr;13(4):325-34.
Venturini I, Corsi L, Avallone R, Farina F, Bedogni G, Baraldi C, Baraldi M, Zeneroli ML. Ammonia and endogenous benzodiazepine-
like compounds in the pathogenesis of hepatic encephalopathy. Scand J Gastroenterol. 2001 Apr;36(4):423-5.
Hassoun Z, Deschenes M, Lafortune M, Dufresne MP, Perreault P, Lepanto L, Gianfelice D, Bui B, Pomier-Layrargues G. Relationship between
pre-TIPS liver perfusion by the portal vein and the incidence of post-TIPS chronic hepatic encephalopathy.
Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):1205-9.
Blei AT. Helicobacter pylori, harmful to the brain? Gut. 2001 May;48(5):590-1.
Abou-Assi S, Vlahcevic ZR. Hepatic encephalopathy. Metabolic consequence of cirrhosis often is reversible.
Postgrad Med. 2001 Feb;109(2):52-4, 57-60, 63-5.
Cadranel JF, Lebiez E, Di Martino V, Bernard B, El Koury S, Tourbah A, Pidoux B, Valla D, Opolon P. Focal neurological signs in hepatic
encephalopathy in cirrhotic patients: an underestimated entity? Am J Gastroenterol. 2001 Feb;96(2):515-8.
Kyprianou A, Hanna J, Mullen KD. Focal neurological signs in cirrhotic patients with episodes of hepatic encephalopathy.
Am J Gastroenterol. 2001 Feb;96(2):273-4.
Jones EA. Pathogenesis of hepatic encephalopathy. Clin Liver Dis. 2000 May;4(2):467-85.
Gerber T, Schomerus H. Hepatic encephalopathy in liver cirrhosis: pathogenesis, diagnosis and management. Drugs. 2000 Dec;60(6):1353-70.
Colquhoun SD, Lipkin C, Connelly CA. The pathophysiology, diagnosis, and management of acute hepatic encephalopathy.
Adv Intern Med. 2001;46:155-76.
Blei AT. Diagnosis and treatment of hepatic encephalopathy. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Dec;14(6):959-74.
Watanabe A. Portal-systemic encephalopathy in non-cirrhotic patients: classification of clinical types, diagnosis and treatment.
J Gastroenterol Hepatol. 2000 Sep;15(9):969-79.
Dhiman RK, Sawhney MS, Chawla YK, Das G, Ram S, Dilawari JB. Efficacy of lactulose in cirrhotic patients with subclinical hepatic
encephalopathy. Dig Dis Sci. 2000 Aug;45(8):1549-52.
Hartmann IJ, Groeneweg M, Quero JC, Beijeman SJ, de Man RA, Hop WC, Schalm SW. The prognostic significance of subclinical hepatic
encephalopathy. Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8):2029-34.
Strauss GI, Hansen BA, Herzog T, Larsen FS. Cerebral autoregulation in patients with end-stage liver disease.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Jul;12(7):767-71.
Blei AT. Brain edema and portal-systemic encephalopathy. Liver Transpl. 2000 Jul;6(4 Suppl 1):S14-20.
Groeneweg M, Moerland W, Quero JC, Hop WC, Krabbe PF, Schalm SW. Screening of subclinical hepatic encephalopathy.
J Hepatol. 2000 May;32(5):748-53.
Doenas do Aparelho Digestivo
618
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
619
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXX
DOENAS HEPTICAS AUTO-IMUNES
1. Hepatite Auto-Imune
2. Cirrose Biliar Primria
3. Colangite Esclerosante Primria
619
Doenas do Aparelho Digestivo
1. HEPATITE AUTO-IMUNE
1. CONCEITO E EPIDEMIOLOGIA
Inicialmente designada de hepatite lupide, por Mackay, a hepatite auto-imune (HAI)
uma doena heptica necro-inflamatria de causa desconhecida, associada pre-
sena de auto-anticorpos sricos especficos do fgado e/ou de auto-anticorpos no
especficos de rgo. A hipergamaglobulinmia um achado tpico, sendo tambm
caracterstica a resposta favorvel corticoterpia.
O quadro histolgico usualmente caracterizado por infiltrado portal linfoplasmacit-
rio e necrose periportal (piecemeal necrosis ou necrose marginal), podendo evoluir
para necrose focal do parnquima, formao activa de septos fibrosos e cirrose hep-
tica.
O diagnstico de HAI exige a excluso de outras hepatopatias com apresentao cl-
nica similar: hepatite crnica viral, hepatite txica, hemocromatose, doena de
Wilson, esteatohepatite no alcolica, deficincia em 1-antitripsina, cirrose biliar pri-
mria, colangite esclerosante primria e colangite auto-imune.
A prevalncia estimada de 50 e 200 casos por milho de habitantes, respectivamen-
te na Europa Ocidental e na Amrica do Norte. Esta taxa de prevalncia compara-se
de outras doenas auto-imunes, como a cirrose biliar primria, o lpus eritematoso
sistmico e a miastenia grave. Nestas reas do globo, a HAI compreende at 20% das
situaes de hepatite crnica.
A prevalncia mais elevada em indivduos europeus e norte-americanos, de raa
branca, portadores dos haplotipos HLA-DR3 e DR4.
Nas zonas de elevada endemicidade de hepatite viral (frica e sia), a prevalncia de
HAI mais baixa. No Japo associa-se usualmente ao HLA-DR4.
importante sublinhar que a maioria dos dados epidemiolgicos actualmente dispo-
nveis reportam-se ao perodo que precedeu a deteco do vrus da hepatite C.
2. ETIOPATOGENIA
Mltiplos agentes tm sido postulados como eventuais indutores da auto-perpetua-
o do processo imunitrio da HAI (vrus, bactrias, qumicos, drogas, gentica), com
enfase recente nos vrus. Todos os principais vrus hepatotrpicos foram incriminados
na origem da HAI: vrus do sarampo, VHB, VHC, VHD, VHG, vrus do herpes simplex
e vrus Epstein Barr.
Embora existam vrias observaes que sugerem o desenvolvimento de processos de
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
621
HAI aps infeces agudas por esses vrus, no est ainda indiscutivelmente compro-
vado o papel etiolgico destes agentes infecciosos. To-pouco foi identificada, at ao
momento, uma droga especfica como verdadeiro agente etiolgico da HAI.
A existncia de um fundo imunogentico especifico parece constituir um importante
requisito para o desenvolvimento da HAI. Esta resultaria de mltiplos factores, postu-
lando-se a contribuio de dois mecanismos fundamentais: uma base gentica espe-
cfica, e um agente especfico que desencadearia o processo auto-imunitrio, even-
tualmente um vrus ou um agente qumico. Outros cofactores poderiam ser necess-
rios: por exemplo, as hormonas femininas, auto-antignios ou factores ambientais,
designadamente o lcool, a nicotina e nutrientes.
Postula-se que a perda de tolerncia contra o prprio fgado, num contexto de pre-
disposio gentica, o mecanismo patognico primrio. No est esclarecido se o
processo mrbido auto-agressivo se desenvolve espontaneamente, ou se agentes
ambientais especficos desencadeiam a HAI em indivduos geneticamente suscept-
veis. Auto-anticorpos contra o tecido heptico so indicadores desse processo auto-
imune. No entanto, nenhum dos auto-auticorpos at ao momento identificados evi-
dencia efeito patognico. Tm, no entanto, grande valor como meio de diagnstico
laboratorial da HAI.
Vrios estudos sugerem um papel central desempenhado pelos linfcitos T helper
(CD4) hiperactivos como mediadores da doena: no modelo animal da HAI, as clulas
T, e no o soro, transferem a doena; na imunohistologia, os linfcitos CD4 activados
predominam no infiltrado inflamatrio; e in vitro a resposta das clulas T aos
auto-antignios hepticos correlaciona-se com a actividade da doena.
Como se referiu, est comprovada a susceptibilidade individual para a HAI. Com efei-
to, existe associao entre esta doena auto-imune e a existncia do haplotipo HLA
A1-B8-DR3 ou DR4 Recentes avanos em biologia molecular, identificaram que nos
doentes com HAI tipo 1, ocorre uma elevada do haplotipo HLA-DRB1* 0301-DRB3*
0101-DQA1* 0501-DQB1* 0201, e uma forte associao secundria com um dos alelos
DR4, DRB1* 0401. O nosso conhecimento da susceptibilidade imunogentica para a
HAI ainda incompleto. Prev-se que futuros trabalhos de pesquisa podero clarifi-
car melhor este magno problema, nomeadamente no que respeita identificao de
doentes em risco de desenvolverem um curso severo da doena ou sndromes
extra-hepticos concomitantes.
3. ESPECTRO CLNICO
A hepatite auto-imune pode surgir em qualquer idade e em qualquer sexo, embora
ocorra mais frequentemente no sexo feminino, com um pico entre os 10 e 30 anos, e
um segundo pico na meia idade tardia.
Doenas do Aparelho Digestivo
622
Em cerca de 30% dos casos a apresentao aguda, podendo mimetizar uma hepa-
tite aguda viral. Por isso no deve ser utilizada nesta doena a designao de hepa-
tite crnica activa auto-imune.
Nos restantes casos o incio insidioso, e a doena pode no ser reconhecida seno
numa fase avanada da leso heptica.
Uma percentagem significativa de doentes apresentam ictercia. So comuns a anore-
xia, a fadiga e a amenorreia. A dor abdominal ocorre em 10 a 40%, e a febre aconte-
ce em percentagens que chegam a atingir os 20%.
A maioria dos doentes apresentam hepatomeglia no exame fsico, e em 50% dos
casos existe esplenomeglia.
Entre 30 a 80% dos doentes houve progresso para um estdio de cirrose no momen-
to da apresentao, e 10 a 20% evidenciam sinais de descompensao com ascite e,
menos frequentemente, encefalopatia. Cerca de 20% dos doentes apresentam varizes
esofgicas.
Ocorrem frequentemente manifestaes extra-hepticas: artropatias e edema periarti-
cular (16-36%), erupes cutneas maculopapulares ou acneiformes (20%), capilarite
alrgica, lichen planus e lceras nos membros inferiores. Pode observar-se tambm
associao com colite ulcerosa, colangite primria esclerosante (particularmente em
crianas), tiroidite auto-imune, sindrome de Sjgren, acidose tubular renal, alveolite
fibrosante, glomerulonefrite, neuropatia perifrica, doena de Gaves, anemia pernicio-
sa, anemia hemoltica.
4. DIAGNSTICO
Perante a suspeita clnica de HAI devem ser solicitados os seguintes estudos:
Testes laboratoriais hepticos.
Imunoglobulinas sricas.
Testes serolgicos e eventualmente virolgicos das hepatites virais.
Ceruloplasmina srica, fenotipo da 1-antitripsina e nveis sricos do ferro, trans-
ferrina e ferritina.
Bipsia heptica.
Pesquisa de auto-anticorpos (podem estar ausentar no incio (10-20%) ou serem
intermitentes no decurso da doena):
Anticorpo antinuclear (ANA)
Anticorpo antimsculo liso (ASMA)
Anticorpos LKM-1 (Liver Kidney microsome)
Alm destes auto-anticorpos, correntemente utilizados na rotina clnica, foram
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
623
identificados outros auto-anticorpos especficos do figado, ocorrendo isoladamen-
te, em associao entre si, ou com os acima descritos. Estes auto-anticorpos, ainda
em fase de estudo no mbito da aplicao clnica, so os seguintes:
LSP (liver specific membrane lipoprotein)
SLA (soluble liver antigen)
LC (liver cytosolic antigen)
LP (liver-pancreas antigen)
ASGP-R (hepatocyte-specific asialoglycoprotein receptor antigen)
Efectuados os estudos acima indicados, estabelece-se um diagnstico definitivo de
HAI desde que sejam satisfeitos os seguintes requisitos:
Ausncia de exposio a drogas ou qumicos hepatotxicos. Consumo limitado de
lcool.
Testes serolgicos ou virolgicos negativos (VHA, VHB, VHC, VHD, Epstein-Barr,
citomegalovirus).
Transaminases elevadas. Hipergamaglobulinmia.
1antitripsina, cobre srico, ceruloplasmina e metabolismo do ferro normais.
Na bipsia heptica: moderada a severa necrose marginal (piecemeal necrosis),
com ou sem hepatite lobular ou necrose confluente centro-portal.
Titulos dos auto-anticorpos ANA, ASMA ou LKM-1 > 1:80 no adulto, e > 1:20 na crian-
a.
No caso de no serem satisfeitos todos estes critrios, o diagnstico no pode ser
considerado definito.
A presena de alteraes histolgicas de colestase na bipsia, incluindo leses dos
ductos biliares e ductopenia, ou alteraes sugestivas de outras doenas (esteatose,
cobre, sobrecarga em ferro, agregados linfides portais), depem contra o diagns-
tico de HAI.
A evidncia de infeco por vrus, impede o diagnstico definitivo de HAI.
Os doentes com auto-anticorpos convencionais negativos, mas que satisfazem outros
critrios e so seropositivos para o anti-SLA, anti-LP, anti-LC ou anti-ASGPR, justificam
um diagnstico provvel de HAI.
5. SUBTIPOS DA HAI
A Hepatite Auto-Imune Tipo 1
Presena no soro de ANA e/ou ASMA. Os anticorpos anti-actina (ASMA) so espe-
cficos mas apresentam baixa sensibilidade (38-74%).
Ocorre em qualquer idade mas tipicamente apresenta uma distribuio etria
bimodal.
Doenas do Aparelho Digestivo
624
A maioria dos doentes so do sexo feminino (relao mulher: homem, 3,6.1).
Em cerca de 40% dos doentes ocorrem manifestaes extra-hepticas. A existncia
de colite ulcerosa obriga realizao de colangiografia para excluso de colangi-
te esclerosante primria.
Incio agudo em 40% dos casos, por vezes sob a forma de hepatite fulminante.
Dentre os novos auto-anticorpos em estudo, o anti-ASGPR o mais promissor,
pelo seu valor no diagnstico e no prognstico.
Os haplotipos HLA-DR3 e DR4 so factores de risco de susceptibilidade indepen-
dentes, sugerindo uma anomalia prolignica.
B Hepatite Auto-Imune Tipo 2
Presena no soro de auto-anticorpos LKM1.
Afecta sobretudo crianas (2-14 anos).
20% dos doentes europeus so adultos, e s 4% dos pacientes norte-americanos
so adultos.
Pode ter uma apresentao aguda ou fulminante.
Comummente associada a doenas imunolgicas concomitante: vitiligo, diabetes
mellitus, tiroidite.
Ocorrncia frequente de auto-anticorpos especficos de orgo, designadamente
contra as clulas parietais, a tiride e os ilhus de Langerhans.
Concentraes de imunoglobulinas menos elevadas do que no tipo 1.
Progresso mais frequente para cirrose do que no tipo 1. Pior prognstico.
Possveis factores de susceptibilidade: HLA-B14, DR3 e CA4-QO
C Hepatite Auto-Imune 3
Discutvel como subgrupo distinto.
Presena de auto-anticorpos anti-SLA, dirigidos contra citoqueratinas 8 e 18.
ANA e anti-KLM 1 ausentes. Comummente presentes: ASMA (35%), anticorpos anti-
mitocondriais (22%), factor reumatide (22%) e anti-LSP (26%).
Anticorpos anti-SLA ausentes na hepatite crnica viral, mas presentes em 11% das
HAI tipo 1, sugerindo que o tipo 3 uma variante e no uma entidade separada.
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
625
6 - VARIANTES DA HAI
A Sindrome de Sobreposio com Cirrose Biliar Primrio (CBP)
Definida por aspectos de hepatite auto-imune associada a anticorpos antimitocon-
driais (AAM) e/ou achados histolgicos de leso ou perda dos ductos biliares.
A maioria tem ttulos de AAM 1:160 e rara seropositividade para anticorpos con-
tra auto-antignios M2.
Acumulao de cobre heptico em 20% dos casos, sugerindo CBP.
A teraputica emprica com corticides durante 3-6 meses melhora a hepatite auto-
imune arguindo contra o diagnstico de CBP.
B Sindrome de Sobreposio com Colangite Esclerosante Primria (CEP).
Definida por aspectos de hepatite auto-imune associada a doena inflamatria
intestinal, padro bioqumico de colestase, evidncia histolgica de leso dos duc-
tos biliares e/ou resistncia corticoterpia
No exame colangiogrfico evidenciam-se alteraes radiogrficas dos canais bilia-
res intra e/ou extra-hepticos, diagnsticas de sobreposio no contexto clnico da
HAI.
Aspectos histolgicos de colangite fibrtica ou de colangite obliterativa, com
colangiograma normal, indicam uma variante dos pequenos ductos.
As chaves do diagnstico so a doena inflamatria intestinal, a resposta deficien-
te corticoterpia e/ou elevao srica da fosfatase alcalina.
Os achados histolgicos vo desde a hepatite periportal exclusiva, at hepatite
periportal associada a leso ou obstruo dos ductos biliares.
tpica a resistncia corticoterpia, justificando-se o cancelamento deste tipo de
tratamento logo que se comprove a sua ineficcia.
C Sindrome de Sobreposio com Hepatite Viral
A presena concomitante de infeco viral e de auto-anticorpos define a sndrome
de sobreposio de HAI e hepatite crnica viral.
S em cerca de 4% de situaes de HAI se detectam verdadeiras reaces positi-
vas anti-VHC e anti-VHB. Em 10% das HAI que no respondem corticoterpia,
detecta-se a presena do ARN-VHC.
Em cerca de 20% das hepatites crnicas virais detectam-se auto-anticorpos: ASMA
(10%), ANA (28%) e outros anticorpos, e concomitante doena imunolgica. Os
ttulos de ASMA e de ANA habitualmente so baixos.
O tratamento seleccionado em funo do quadro clnico dominante: doena
auto-imune predominante Definida por ttulos de ASMA ou ANA 1:320, ou positi-
Doenas do Aparelho Digestivo
626
vidade simultnea para o ASMA e o ANA, quaisquer que sejam os ttulos; ou doen-
a viral predominante, definida por indiscutvel infeco viral + anti-LKM1 ou infec-
o viral + seropositividade com ttulos baixos (< 1: 320) para o ASMA ou ANA.
As alteraes histolgicas podem definir o predomnio auto-imune ou viral, mas a
sensibilidade incerta.
O tratamento deve ser adequado condio mais prevalente: corticoterpia para
as situaes de predomnio auto-imune, e interfero para os casos de predomnio
viral. Os resultados devem ser avaliados aos 3 meses, considerando-se uma tera-
putica alternativa se a resposta fraca.
D Colangite Auto-Imune
Apresenta aspectos comuns HAI e cirrose biliar primria sem evidncia de anti-
corpos antimitocondriais.
caracterstica desta entidade a coexistncia de ANA e/ou ASMA, colangiograma
normal, padro bioqumico de colestase e achados histolgicos de leso dos duc-
tos biliares.
Resposta varivel corticoterpia ou ao cido ursodesoxiclico. Melhoria do qua-
dro clnico e laboratorial, sem alterao no padro histolgico.
E Hepatite Crnica Criptognica
Apresenta todos os critrios da hepatite auto-imune, contudo sem os caractersti-
cos auto-anticorpos.
Responde tambm corticoterpia, como acontece na HAI.
Provavelmente representa uma forma de HAI que escapou deteco pelos testes
imunoserolgicos convencionais.
A utilizao de testes mais sofisticados, designadamente o anti-SLA e o anti-LP, e
a repetio da pesquisa de auto-anticorpos tradicionais, recolocar muitas destas
formas de hepatite criptognica no contexto da HAI.
7 - TRATAMENTO
A INDICAES
So indicaes absolutas para tratamento da hepatite auto-imune: sintomas incapa-
citantes, progresso clnica inexorvel, transaminases 10 vezes o normal, transami-
nases 5 vezes o normal + gamaglobulina 2 vezes o normal, necrose heptica con-
fluente, necrose multilobular.
So indicaes relativas: sintomas ligeiros ou ausentes, transaminases 3-9 vezes o
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
627
normal, transaminases 5 vezes o normal e gamaglobulina < 2 vezes o normal, hepa-
tite periportal.
No justificam tratamento as situaes caracterizadas por: ausncia de sintomas com
dados laboratoriais discretos, prvia intolerncia prednisona e/ou azatioprina, trans-
minases < 3 vezes o normal, citopenia severa, cirrose inactiva, hepatite portal e cirro-
se descompensada com hemorragia por varizes.
B FRMACOS
A prednisona isolada ou em combinao com azatioprina, so as propostas actuais de
tratamento farmacolgico. O regime da associao medicamentosa prefervel, na
medida em que se utilizam menores doses de corticides.
Posologia: iniciar com 30 mgr/dia, durante a 1 semana, reduzir para 20 mgr/dia na 2
semana, reduzir para 15 mgr/dia na 3 e 4 semanas, reduzir para 10 mgr at final do
tratamento. Associar, desde o incio, azatioprina (50 mgr/dia).
Utilizando este ltimo frmaco, importante contar os leuccitos e as plaquetas
durante o tratamento, com intervalos de 6 semanas, para monitorizar a toxicidade
medular.
O doente deve ser submetido a controlos clnicos e laboratoriais cada seis meses
durante o tratamento, ou mais cedo no caso de surgir insuficincia heptica ou into-
lerncia aos frmacos.
A ascite e a encefalopatia no contra-indicam esta teraputica.
O doente com necrose multilobular no exame histolgico, onde um tratamento de
duas semanas no normaliza pelo menos um parmetro laboratorial ou melhora a
hiperbilirrubinmia, tm elevado risco de mortalidade, devendo ser avaliados para
transplantao heptica caso existam sinais de descompensao.
O tratamento deve ser prosseguido at obteno de remisso, definida por: ausncia
de sintomas, transaminases < 2 vezes o valor normal, normalizao dos outros testes
bioqumicos e histologia heptica inactiva ou minimamente activa. A remisso ocorre
em cerca de 65% dos doentes, dentro de 2 anos.
Obtida a remisso deve reduzir-se paulatinamente a dose de corticides e de azatio-
prina, durante um perodo de seis semanas.
Aps o tratamento, cerca de 50% dos doentes mantm a remisso, mas nos restan-
tes acontece uma recidiva dentro de 6 meses. Neste caso, deve reinstituir-se o trata-
mento inicial. Se acontecer nova recidiva, deve prescrever-se teraputica indefinida
Doenas do Aparelho Digestivo
628
com prednisona ou azatioprina, ou ponderar a transplantao heptica.
Em cerca de 10 % dos doentes, a associao corticides + azatioprina, nas doses indi-
cadas, no induz remisso. Nesses casos, deve ponderar-se o aumento das doses (por
ex. 30 mgr/dia de prednisona + 150 mgr/dia de azatioprina). Neste subgrupo de doen-
tes h usualmente necessidade de teraputica de manuteno durante anos, ou inde-
finidamente. Uma alternativa ser a transplantao heptica.
Em cerca de 15% dos doentes ocorre toxicidade aos frmacos: obesidade intolervel,
compresso vertebral, citopenia severa, psicose, erupes cutneas, nuseas e vmi-
tos. Nesses casos, h necessidade de reduzir ou interromper os frmacos.
Outras propostas farmacolgicas tm sido aventadas, encontrando-se ainda em fase
experimental: ciclosporina, tacrolimus, budesonido, cido ursodesoxiclico, extratos
de hormona do timo, 6- mercaptopurina.
C TRANSPLANTAO HEPTICA
Eficaz no doente descompensado onde falhou a corticoterpia . Outra indicao a
forma aguda fulminante.
A sobrevida aos 5 anos de cerca de 96%.
rara a recorrncia da doena no enxerto. Acontece sobretudo em doentes inadequa-
damente tratados com imunosupresso, ou em receptores HLA/DR3 positivos de dado-
res HLA/DR3 negativos.
2. CIRROSE BILIAR PRIMRIA
A cirrose biliar primria (CBP) uma doena crnica colesttica de etiologia desconhe-
cida, que afecta predominantemente a mulher na idade mdia de vida.
Morfologicamente a CBP caracterizada por inflamao portal e necrose das clulas
que tapetam os ductos biliares de pequeno e mdio calibre.
A doena caracterizada bioquimicamente por um quadro de colestase e imunologi-
camente pela presena, quase constante, de anticorpos antimitocondriais e menos
frequentemente por anticorpos antinucleares.
Embora a CBP seja uma doena progressiva, o ritmo de progresso muito varivel.
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
629
A fase terminal caracterizada por hiperbilirrubinmia e morfologicamente por cirro-
se.
1. EPIDEMIOLOGIA
As estimativas de prevalncia indicam 100-200 casos por milho de habitantes, com
muito forte prevalncia feminina (10:1) e uma idade mdia de diagnstico na faixa dos
50-55 anos. A doena nunca foi descrita na infncia ou na adolescncia.
A prevalncia da CBP em famlias com um membro afectado de cerca de 4% (bas-
tante mais elevada do que na populao global). Similarmente, comum a ocorrn-
cia de outras afeces de base imunolgica nos parentes em 1 grau de doentes com
CBP. Existe uma fraca associao entre a doena e o antignio HLA DR8. Tambm foi
reportado um excesso de frequncia do haplotipo C4AQO.
2. ANOMALIAS IMUNOLGICAS E PATOGNESE
A Anomalias Imunulgicas
O grande nmero de anomalias imunolgicas da CBP sugere que a doena causada
por alteraes nos mecanismos da imunoregulao. Contudo no h evidncia direc-
ta desta hiptese. As principais anomalias evidenciadas na CBP so:
Anticorpos Antimitocondriais (AAM)
Detectados em cerca de 95% dos doentes com CBP. No so especficos para esta
doena e no afectam a sua evoluo. Podem surgir, em pequena percentagem, na
hepatite auto-imune e nas hepatopatias por drogas.
Dentre os vrios anticorpos antimitocondriais, destacam-se os anti-M2, dirigidos
sobretudo contra o componente E2 de complexos de desidrogenases cetocidas loca-
lizadas na membrana interna das mitocndrias.
Alm dos anti-M2, descrevem-se outros anticorpos antimitocondriais na CBP. Anti-M4,
anti-M8 e anti-M9- A sua existncia tem sido impugnada em estudos recentes.
Os alvos principais da reaco imunolgica so os colangicitos. Vrios argumentos
sugerem que os anti-M2 no so citotxicas. De facto, no se encontram sistematica-
mente presentes na CBP, e a severidade desta no se correlaciona com os titulos dos
anticorpos. Estes podem estar presentes, alis, na ausncia de leses sugestivas de
necrose biliar.
Doenas do Aparelho Digestivo
630
Outros Auto-Anticorpos
Anticorpos antinucleares (em percentagem que pode atingir 70%)
Anticorpos anti-msculo liso
Anticorpos anti-tiroideus
Anticorpos linfocitxicos
Anticorpos anti-plaquetares
Factor reumatide
Elevao Srica de Imunoglobulinas
Encontram-se nveis aumentados da IgM (no soro, altamente imunoreactivas).
Podem induzir falsos positivos em ensaios de deteco de imuno-complexos.
Associao com Doenas Auto-Imunes
Tiroidite, hipotiroidismo.
Artrite reumatide.
Sindrome CREST (calcinose, fenmenos de Raynaud, dismotilidade esofgica, esclero-
dactilia e telangiectasias).
Sindrome de Sjgren
Esclerodermia.
Anomalias na Imunidade Celular
Diminuio na regulao das clulas T.
Reduo no nmero de linfcitos T circulantes.
Sequestrao de linfcitos T nos espaos porta.
Testes cutneos de hipersensibilidade retardada negativos.
B PATOGNESE
Postulam-se dois mecanismos na induo da leso heptica e dos sntomas clnicos
da CBP:
O processo inicial a destruio crnica dos pequenos ductos biliares, presumivel-
mente mediada por linfcitos T activados. Admite-se que a leso destrutiva inicial dos
ductos biliares seja causada por linfcitos T citotxicos porque:
Em doentes com CBP os colangicitos expressam quantidades excessivas de com-
plexos antignicos de histocompatibilidade da classe I (HLA-A, HLA-B e HLA-
C) e antignios HLA-DR da classe II.
As leses biliares lembram as produzidas por linfcitos T citotxicos, como suce-
de na rejeio de enxertos hepticos.
Como noutras doenas auto-imunes, factores ambientais tm sido incriminados na
patognese das leses em hospedeiros geneticamente susceptveis. Um desses
factores a infeco bacteriana. H dados que indicam a existncia de reaco cru-
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
631
zada entre os anti-M2 e antignios do Escherichia coli ou de outras bactrias
(Mycobacterium gordonii). Esses dados indicam que essas bactrias expressam o
componente E2 da piruvato desidrogenase, que os colangicitos de doentes com
CBP exibem em quantidades superiores ao normal.
O segundo mecanismo a agresso qumica dos hepatcitos em reas hepticas
onde a drenagem biliar est comprometida pela destruio dos pequenos ductos
biliares, resultando uma rarefaco destas estruturas no parnquima heptico:
H reteno de cido biliares, bilirrubina, cobre e outras substncias que so nor-
malmente segregadas ou excretadas para a bilis.
O aumento da concentrao de alguns desses produtos, designadamente os ci-
dos biliares, pode originar leso dos hepatcitos.
Os sinais e sintomas da CBP so devidos ao quadro prolongado de colestase.
A destruio dos canalculas biliares conduz eventualmente a inflamao portal e
fibrose, e finalmente a cirrose e insuficincia heptica.
3 - HISTOPATOLOGIA
A bipsia heptica um exame essencial no diagnstico da CBP. importante subli-
nhar, no entanto, que o fgado pode no se encontrar uniformemente afectado, pelo
que a bipsia heptica est sujeita a variaes de amostragem. Por outro lado, vrios
estdios lesionais podem ser observados num fragmentos de bipsia, tendo-se con-
vencionado que a leso mais avanada define o estadiamento da doena.
So quatro os estdios histopatolgicos descritos na CBP:
ESTDIO I:
Ductos biliares lesados e usualmente rodeados de densos infiltrados de clulas
mononucleares, a maioria delas linfcitos.
Estas leses destrutivas, flridas e assimtricas dos canais biliares interlobulares
esto irregularmente distribudas pelos espaos porta.
A inflamao confina-se a esses espaos.
ESTDIO II:
As leses so mais disseminadas mas menos especficas.
Pode observar-se reduo do nmero de ductos biliares nos espaos porta, e pro-
liferao de neo-ductos atpicos, com irregularidades na conformao do lume.
H fibrose portal difusa, com densos infiltrados mononucleares.
Essa inflamao pode invadir as reas limtrofes periportais (piecemeal necrosis).
A rarefaco no nmero dos ductos biliares num fragmento de bipsia que no
revela outras alteraes significativas, deve alertar para a possibilidade de CBP.
Doenas do Aparelho Digestivo
632
ESTDIO III:
Similar ao estdio II, no entanto observam-se septos fibrosos formando pontes
porta-portais.
ESTDIO IV:
Representa o estdio final da leso, com cirrose marcada e ndulos de regenera-
o. Os achados so indistinguveis de outros tipos de cirrose, no entanto a pobre-
za de ductos biliares normais em reas de fibrose alerta para a possibilidade de
CBP.
4 CLNICA
A Sintomas
Cerca de 50-60% dos doentes so assintomticos no momento do diagnstico.
Os sintomas e os sinais de CBP so motivados por colestase prolongada. Os sinto-
mas mais eloquentes so:
FADIGA.
o sintoma mais comum, identificado at 80% dos doentes que consultam.
PRURIDO.
A mais precoce queixa especfica da CBP. Caracteristicamente mais pronunciado no
leito, o prurido tem origem desconhecida. No devido reteno de cidos biliares
primrios ou secundrios. Recentemente apontou-se um aumento do tonus opioidr-
gico na colestase crnica como potencial indutor do prurido. Este pode iniciar-se no
terceiro trimestre da gravidez, e persistir depois do parto. Raramente desaparece
espontaneamente at ao estdio final de cirrose, sendo a transplantao heptica
eventualmente o nico recurso teraputico.
M ABSORO.
Essencialmente motivada pela diminuio da concentrao de cidos biliares no lume
intestinal, pelo que ocorre deficiente digesto e absoro dos triglicerdeos neutros
da dieta. O doente queixa-se de diarreia nocturna, as fezes so volumosas e lustro-
sas e h perda de peso, ainda que o apetite esteja conservado. Pode ocorrer m
absoro de vitaminas liposolveis vit. A, D, E e K -, e de clcio. A insuficincia pan-
cretica pode contribuir para a m absoro.
OSTEOPOROSE.
A doena ssea osteopnica ocorre em cerca de 25% dos doentes com CBP.
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
633
A patognese no est ainda esclarecida. A osteomalcia rara. Sntomas clnicos da
osteoporose: dores sseas, colapso espontneo dos corpos vertebrais e microfractu-
ras das costelas. So menos comuns as fracturas dos ossos longos.
B Sinais
Detecta-se hepatomeglia em cerca de 70% dos doentes com CBP.
Esplenomeglia em 35%.
Manifestaes cutneas:
Pigmentao da pele por melanina
Excoriaes por prurido intratvel.
Ictercia, usualmente em fases avanadas da doena.
Xantelasmas e xantomas, correlacionados com hipercolesterolmia.
Pode detectar-se o anel de Kayser-Fleisher no exame ocular, ainda que raramente,
por depsitos de cobre.
Estdio final da CBP: sinais caractersticas de cirrose heptica.
C Histria Natural
A expectativa de vida maior nos doentes sem sintomas, variando entre 10-16 anos.
A sobrevida mdia nos doentes sintomticos varia entre 7-10 anos, sendo de cerca de
7 anos para os estdios III e IV.
A maioria dos doentes assintomticos desenvolve sintomas usualmente dentro de
2-4 anos.
A presena ou ttulo dos AAM no influencia a sobrevida.
5 - DIAGNSTICO
O diagnstico da CBP baseia-se na clnica, em testes laboratoriais, na bipsia hepti-
ca e em exames imagiolgicos. Os dados clnicos j foram explanados. Analisemos o
interesse dos restantes mtodos:
A Testes Laboratoriais
Provas funcionais hepticas:
Padro de colestase. As anomalias iniciais consistem na elevao da fosfatase alca-
lina e da -GT. No tm valor prognstico.
Transaminases levemente elevadas, com flutuaes durante a evoluo da doen-
a. Sem valor prognstico.
Doenas do Aparelho Digestivo
634
Bilirrubinmia usualmente normal nos estdios iniciais, elevando-se com a progres-
so da doena.
Anticorpos antimitocondriais positivos em 95% dos doentes.
Outros achados laboratoriais:
Albuminmia e protrombinmia normais nos estdios iniciais. Nveis sricos baixos
com a evoluo do processo, sinal de mau prognstico.
Elevao da IgM no soro.
Elevao do colesterol em cerca de 50% dos doentes. Tambm pode ocorrer ele-
vao das HDL.
Ocorre eventualmente subida dos nveis sricos do cobre e da ceruloplasmina, bem
como da TSH (traduzindo hipotiroidismo).
B Bipsia Heptica
Confirma o diagnstico e estima a durao da doena. til na avaliao prognstica
e na resposta teraputica. um exame indispensvel.
C Exames Imagiolgicos
Ultra-sonografia: mtodo no invasivo e usualmente adequado para eliminar a hip-
tese de obstruo das vias biliares.
Nos casos onde a ecografia foi tecnicamente insatisfatria, deve solicitar-se TAC.
CPRE: usualmente no necessria, excepto em doentes com anticorpos antimitocon-
driais negativos, onde de aventar a hiptese de colangite esclerosante primria.
6 - TERAPUTICA
O tratamento da cirrose biliar biliar primria desdobra-se em dois aspectos: tratamen-
to das complicaes da colestase crnica, e teraputica especfica do processo de
base.
A Tratamento das complicaes da Colestase Crnica
PRURIDO.
Nos casos discretos, recomendar banhos quentes, emolientes e antihistamnicos. No
prurido moderado ou severo, prefervel utilizar resinas fixadoras dos cidos biliares,
como a colestiramina e o colestipol, que se ligam a uma substncia pruritognica no
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
635
identificada da bilis. A dose de colestiramina varia de 4 gr uma vez por dia, at 24
gr/dia, em doses divididas. O colestipol deve usar-se nos doentes que no toleram a
colestiramina, que tem um sabor desagradvel, origina obstipao e pode interferir
com a absoro de outros frmacos. A dose usual de colestipol de 5 gr. trs vezes
por dia. Outra opo teraputica o cido ursodesoxiclico, que pode aliviar o pru-
rido nalguns doentes. No entanto, pode levar semanas a evidenciar efeito benfico.
Nos casos onde no houve sucesso com os frmacos indicados, deve tentar-se a admi-
nistrao de fenobarbital (60-90 mgr/dia), rifampicina (300-600 mgr/dia), testosterona,
fototerpia com raios ultra-violeta, glucocorticides, ondansetron ou naloxona. A plas-
maferese pode ser eventualmente til no prurido severo. A ltima opo teraputica
a transplantao heptica.
M ABSORO.
Os nveis plasmticos das vitaminas A, D, E e K devem ser avaliados, e tratadas as
eventuais carncias. A esteatorreia sintomtica deve tratar-se com dieta pobre em gor-
dura, suplementada com triglicerdeos de cadeia mdia (60 ml/dia). Nalguns doentes
pode coexistir insuficincia pancretica, que exige teraputica substitutiva.
OSTEODISTROFIA.
No est ainda esclarecida a patognese da osteopenia da CBP. No existe terapu-
tica comprovada para as situaes de osteoporose destes doentes. A vit.D e suple-
mentos de clcio podem ser prescritos, avaliando periodicamente a excreo urinria
de clcio. Em avaliao encontram-se os seguintes frmacos: fluoretos, calcitonina e
alendronato. A transplantao heptica melhora a densidade ssea.
HIPERTENSO PORTAL E INSUFICINCIA HEPTICA
(ver captulo sobre cirrose heptica e suas complicaes).
B Tratamento da Doena de Base
FRMACOS INEFICAZES OU TXICOS
Glucocorticides
Azatioprina
D-Penicilamina
Ciclosporina
FRMACOS COM EFEITOS PROMISSORES
cido ursodesoxiclico: um cido biliar com propriedades colerticas, que diminui os
nveis sricos dos cidos biliares. um frmaco incuo e bem tolerado. Na dose de
13-15 mgr/kg de peso e por dia, este frmaco melhora os testes laboratoriais, pode
Doenas do Aparelho Digestivo
636
aliviar o prurido e prolonga o tempo at deteriorao clnica ou transplantao
heptica. Existe um efeito benfico aditivo se associado colchicina. So menos cla-
ros os efeitos deste cido biliar no tocante ao quadro histolgico.
Colchicina: pode melhorar o perfil bioqumico, na dose de 0.6 mgr duas vezes por dia.
Em 10% dos casos ocorre diarreia. No melhora o quadro histolgico nem os sinto-
mas. No entanto, est comprovado que atrasa o desenvolvimento da doena.
Metotrexato: um estudo piloto, com doses baixas do frmaco por via oral (15
mgr/semana), ocorreram melhorias clnicas, bioqumicas e histolgicas. Estudos mais
recentes comprovam que a administrao deste frmaco, isoladamente ou associado
ao cido ursodesoxiclico e eventualmente colchicina, tem evidentes benefcios rela-
tivamente ao placebo. importante a titulao do frmaco nos casos individuais, e a
monitorizao da resposta mediante estudos da funo heptica e da bipsia hepti-
ca. A resposta ao frmaco lenta, demorando em regra vrios meses. Pode registar-
se um aumento transitrio das transaminases entre as duas semanas e oito meses
aps o incio da teraputica. Esse achado parece ser um marcador de boa resposta
final ao frmaco.
Em cerca de 5-15% dos doentes com CBP, pode ocorrer pneumonite alrgica. A supres-
so medular acontece raramente. Os doentes com formas avanadas de CBP no res-
pondem ao metotrexato ou a qualquer outro frmaco.
Comentrio
A CBP geralmente considerada uma doena progressiva na maioria dos casos.
Embora a teraputica mdica actualmente disponvel no altere a histria natural da
doena, a relao risco-benefcio dos frmacos analisados supera a alternativa de abs-
teno farmacolgica. A maioria dos autores prefere iniciar o tratamento com o cido
ursodesoxiclico, advogando outras opes farmacolgicas ou combinaes terapu-
ticas em caso de insucesso com esse cido biliar.
C Transplantao Heptica
Os doentes com CBP em estdio avanado so excelentes candidatos realizao de
transplantao heptica.
A sobrevida ao fim de um ano ps-transplantao de 85-90%.
rara a recorrncia da doena aps transplantao com adequada imunosupresso.
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
637
3. COLANGITE ESCLEROSANTE PRIMRIA
A colangite esclerosante primria (CEP) uma doena heptica colesttica crnica,
caracterizada por inflamao e fibrose da rvore biliar intra e extra-heptica.
A evoluo histopatolgica culmina em danos irreversveis para os canais biliares, que
acabam por induzir processos de colestase,cirrose, insuficincia heptica e morte pre-
matura , a no ser que se efectue uma transplantao heptica.
O conceito de colangite esclerosante primria define uma situao idioptica, que
deve distinguir-se dos processos de colangite secundria resultante de causas bem
identificadas: cirurgia biliar, coledocolitase, trauma, isqumia, quimioterpia,, agentes
infecciosos, anomalias congnitas, SIDA, neoplasias malignas, ductopenia idioptica
do adulto e amiloidose.
1 - APRESENTAO CLNICA
A CEP atinge predominantemente os indivduos do sexo masculino de meia idade.
Cerca de 70% dos doentes so homens, com idade mdia de cerca de 40 anos na
altura do diagnstico.
So vrios os modos de apresentao clnica:
Doente assintomtico com testes laboratoriais hepticos anormais (perfil bioqumi-
co de colestase).
Prurido, astenia, ictercia
Colangite recorrente
Complicaes de doena heptica crnica
Descoberta fortuita na laparotomia.
Sintomas da CEP: astenia (75%), prurido (70%), ictercia (65%) perda de peso (40%),
febre (35%).
Sinais da CEP: hepatomeglia (55%), ictercia (50%) esplenomeglia (30%), hiperpig-
mentao (25%), xantomas (4%).
Alteraes bioqumicas mais frequentes: fosfatase alcalina (99%), aminotransferases
(95%), bilirrubinmia (65%), albuminmia (20%), tempo de protrombina (10%), cobre
srico (50%), ceruloplasmina (75%), cobre urinrio (65%).
Dados histolgicos (bipsia): praticamente todos os doentes evidenciam anomalias.
As principais consistem em: fibrose periductal, inflamao, e proliferao de ductos
biliares alternando com a sua obliterao ou ductopenia.
Doenas do Aparelho Digestivo
638
Achados colangiogrficos: constituem o meio mais importante de diagnstico da CEP.
A colangiografia por via endoscpica ou transheptica representou a causa principal
para o aumento de frequncia no diagnstico da CEP. Os achados radiolgicos mais
comummente observados so: estenoses anulares multifocais difusamente distribui-
das, intervalando com segmentos de ductos biliares normais ou levemente ectasia-
dos; estenoses curtas e saculaes pseudo-diverticulares.
O diagnstico da CEP assenta nos seguintes critrios:
Perfil bioqumico de colestase (fosfatase alcalina superior a 1.5 vezes o limite supe-
rior normal durante 6 meses)
Achados colangiogrficos peculiares
Bipsia heptica compatvel com CEP e excluindo outras causas de doena hep-
tica.
Excluso de colangite esclerosante secundria.
2 - DOENAS ASSOCIADAS
A CEP pode associar-se a uma grande variedade de doenas: doena inflamatria
intestinal, sprue celaco, sarcoidose, pancreatite crnica, artrite reumatide, fibrose
retroperitoneal, tiroidite, sindrome de Sjgren, hepatite auto-imune, esclerose sistmi-
ca, lupus eritematoso, vasculite, doena de Peyronie, nefropatia membranosa, bron-
quiectasias, anemia hemoltica auto-imune, prpura trombocitopnica imune, histioci-
tose X, fibrose quistica, eosinofilia.
Em mais de 75% dos casos a CEP associa-se a doena inflamatria intestinal (DII). O
diagnstico de DII usualmente precede o de CEP; no entanto, a CEP pode ocorrer
antes da DII ou anos aps a protocolectomia. Alm disso, a DII pode desenvolver-se
aps transplantao heptica por CEP. No se encontrou diferena na evoluo ou
severidade da CEP com ou sem DII.
3 - ETIOPATOGENIA
desconhecida a causa da CEP. Apontam-se como potenciais factores etiopatogni-
cos: bacterimia portal, toxinas absorvidas no clon, cidos biliares txicos, toxicida-
de pelo cobre, infeco viral, predisposio gentica, mecanismos imunolgicos e
leso isqumica arteriolar.
Postula-se correntemente que a patogenia da CEP tem a ver com mecanismos imu-
nitrios:
A CEP associa-se a outras doenas de filiao provavelmente ou seguramente imu-
nitria;
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
639
A CEP associa-se aos antignios HLA-B8 e HLA-DR3, frequentemente detectados
em doenas imunitrias;
As anomalias imunolgicas encontradas em doentes com CEP incluem: elevao
srica da IgM, imunocomplexos circulantes, aumento do metabolismo do comple-
mento, aumento da autoreactividade dos linfcitos T citotxicos no sangue perif-
rico e expresso de antignios HLA da classe II nas clulas epiteliais biliares.
4 COMPLICAES
A CEP usualmente uma doena lentamente progressiva, com uma mdia de sobre-
vida de cerca de 12 anos desde o incio do diagnstico.
Os estdios finais da CEP associam-se frequentemente com complicaes da hiperten-
so portal: hemorragias por varizes esofgicas e por varizes peri-estoma (em doentes
submetidos a proctocolectomia), ascite, peritonite bacteriana espontnea e encefalo-
patia portosistmica.
Dado que se trata de uma doena colesttica crnica, a CEP pode originar: astenia,
prurido, esteatorreia, carncia em vitaminas liposolveis e doena metablica ssea.
Consideram-se complicaes especficas da CEP, as seguintes:
- Colangite bacteriana.
- Litase biliar.
- Estenose obstrutiva.
- Colangiocarcinoma (pode surgir em cerca de 30% dos doentes com CEP de longa
evoluo).
5 TERAPUTICA
A Tratamento dos Sintomas da Colestase Crnica
(ver Cirrose biliar primria).
B - Tratamento das Complicaes da Hipertenso Portal
(ver Cirrose heptica e suas complicaes).
C - Tratamento de Complicaes Especficas da CEP:
Colangite bacteriana: antibioterpia de largo espectro i.v. Teraputica profilctica com
ciprofloxacina recomendada por muitos autores.
Doenas do Aparelho Digestivo
640
Estenose biliar dominante: teraputica endoscpica ou imagiolgica com dilatao por
balo. Em todos os casos realizar citologia dirigida para excluso de colangiocarcino-
ma. frequentemente necessria a colocao de uma endoprtese biliar.
Colangiocarcinoma: tem mau prognstico, no respondendo quimioterpia ou radio-
terpia. Muitos programas de transplante heptico consideram o colangiocarcinoma
associada CEP uma contra-indicao absoluta ou relativa para transplantao.
D Teraputica Especfica visando retardar a progresso da CEP.
TRATAMENTO MDICO
Suporte
Frmaco cuprurtico: penicilamina.
Frmaco antifibrinognico: colchicina.
Frmacos imunosupressores: prednisona, azatioprina, ciclosporina, metotrexato
colerticos, cido ursodesoxiclico.
TRATAMENTO RADIOLGICO/ENDOSCPICO
Colangioplastia.
TRATAMENTO CIRRGICO
Cirugia biliar reconstrutiva.
Protocolectomia.
Transplantao heptica.
COMENTRIO:
A teraputica mdica tem sido desapontadora, no impedindo a progresso da doen-
a.
A teraputica endoscpica/radiolgica pode melhorar a ictercia e eliminar a colangite
bacteriana, mas no evita a progresso da doena.
A cirurgia biliar reconstrutiva alivia os sintomas e tem a vantagem de excluir o colan-
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
641
giocarcinoma. No entanto, tambm no impede a progresso da doena.
A proctocolectomia, ainda que indicada no contexto da DII, no melhora ou previne a
progresso da CEP.
A transplantao heptica presentemente o tratamento de escolha para o doente
com CEP num estdio avanado. Resultados recentes evidenciam taxas de sobrevida
ps-transplantao, de 90% ao fim de 1 ano, e de 75% aos 5 anos.
Aps o transplante, ocorre recorrncia da doena em cerca de 15-20% dos doentes.
Contudo, o diagnstico de CEP difcil neste contexto, na medida em que outros fac-
tores podem estar incriminados nas leses estenticas dos ductos biliares: rejeio
crnica, infeco por virus citomeglico e isqumia prolongada.
Doenas do Aparelho Digestivo
642
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
643
REFERNCIAS
Lazaridis CN, Wiesner RH, Parayko MK et al. Primary Sclerosing Cholangitis. In: Schiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC (Eds).
Schiffs Diseases of the Liver. Lipincott-Raven 1999:649-670.
Lindor KD, Dickson ER. Primary biliary cirrhosis. In: Schiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC (Eds). Schiffs Diseases of the Liver.
Lipincott-Raven 1999:679-692.
Manns MP. Autoimmune Hepatitis. In: Schiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC (Eds). Schiffs Diseases of the Liver. Lipincott-Raven 1999:919-936.
Poupon R, Poupon RE. Primary biliary cirrhosis. In: Bacon BR, Di Bisceglie AM (Eds). Liver Disease. Diagnosis and Management.
Churchill Livingstone 2000:191-201.
Harnois D, Wiesner RH, Larusso NF. Primary sclerosing cholangitis. In: Bacon BR, Di Bisceglie AM (Eds). Liver Disease.
Diagnosis and Management. Churchill Livingstone 2000:211-228.
Manns MP, Schler A. Autoimmune hepatitis: diagnosis and treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B (Eds.).
Evidence based Gastroenterol & Hepatol. BMJ Books 1999:360-371.
Mitchell AS, Chapman R. Primary sclerosing cholangitis: etiology, diagnosis, prognosis and treatment.
In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B (Eds.). Evidence based Gastroenterol & Hepatol. BMJ Books 1999:372-388.
Heathcote J. Primary biliary cirrhosis diagnosis and treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B (Eds.).
Evidence based Gastroenterol & Hepatol. BMJ Books 1999:345-359.
Monteiro E. Doenas hepato-biliares auto-imunes. Aspectos imunolgicos e clnicos. In: Grima N, Camilo ME, Oliveira AG et al.
Doenas das Vias Biliares e Pncreas. Ed. Bial 1996:413-424.
Manns MP, Strassburg CP. Autoimmune hepatitis: clinical challenges. Gastroenterology. 2001 May;120(6):1502-17.
Kanzler S, Gerken G, Lohr H, Galle PR, et al. Duration of immunosuppressive therapy in autoimmune hepatitis.
J Hepatol. 2001 Feb;34(2):354-5.
Sasaki M, Yamauchi K, Tokushige K, et al. Clinical significance of autoantibody to hepatocyte membrane antigen in type 1 autoimmune
hepatitis. Am J Gastroenterol. 2001 Mar;96(3):846-51.
Czaja AJ, Santrach PJ, Breanndan Moore S. Shared genetic risk factors in autoimmune liver disease. Dig Dis Sci. 2001 Jan;46(1):140-7.
McFarlane IG. Autoimmune hepatitis: Clinical manifestations and diagnostic criteria. Can J Gastroenterol. 2001 Feb;15(2):107-13.
Mabee CL, Thiele DL. Mechanisms of autoimmune liver disease. Clin Liver Dis. 2000 May;4(2):431-45.
Faust TW. Recurrent primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, and autoimmune hepatitis after transplantation.
Semin Liver Dis. 2000;20(4):481-95.
Toda G. Revised criteria for diagnosis of autoimmune hepatitis. Intern Med. 2000 Dec;39(12):999-1000.
Heneghan MA, Norris SM, OGrady JG, et al. Management and outcome of pregnancy in autoimmune hepatitis.
Gut. 2001 Jan;48(1):97-102.
Lake JR. Autoimmune hepatitis: a fertile field. Gut. 2001 Jan;48(1):7-8.
Duchini A, McHutchison JG, Pockros PJ. LKM-positive autoimmune hepatitis in the western United States: a case series.
Am J Gastroenterol. 2000 Nov;95(11):3238-41.
Chazouilleres O. Diagnosis of primary sclerosing cholangitisautoimmune hepatitis overlap syndrome: to score or not to score?
J Hepatol. 2000 Oct;33(4):661-3.
van Buuren HR, van Hoogstraten HJE, Terkivatan T, et al. High prevalence of autoimmune hepatitis among patients with primary sclerosing
cholangitis. J Hepatol. 2000 Oct;33(4):543-8.
Kaya M, Angulo P, Lindor KD. Overlap of autoimmune hepatitis and primary sclerosing cholangitis: an evaluation of a modified scoring sys-
tem. J Hepatol. 2000 Oct;33(4):537-42.
Dhawan A, Mieli-Vergani G. Mycophenolate mofetila new treatment for autoimmune hepatitis? J Hepatol. 2000 Sep;33(3):480-1.
Richardson PD, James PD, Ryder SD. Mycophenolate mofetil for maintenance of remission in autoimmune hepatitis in patients resistant to
or intolerant of azathioprine. J Hepatol. 2000 Sep;33(3):371-5.
Reich DJ, Fiel I, Guarrera JV, et al. Liver transplantation for autoimmune hepatitis. Hepatology. 2000 Oct;32(4 Pt 1):693-700.
Ayata G, Gordon FD, Lewis WD, et al. Liver transplantation for autoimmune hepatitis: a long-term pathologic study.
Hepatology. 2000 Aug;32(2):185-92.
Roozendaal C, de Jong MA, van den Berg AP, et al. Clinical significance of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in autoimmune liver
diseases. J Hepatol. 2000 May;32(5):734-41.
Griga T, Tromm A, Muller KM, May B. Overlap syndrome between autoimmune hepatitis and primary sclerosing cholangitis in two cases.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 May;12(5):559-64.
Lindgren S, Nilsson S, Nassberger L, Verbaan H, Wieslander J. Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in patients with chronic liver diseases:
prevalence, antigen specificity and predictive value for diagnosis of autoimmune liver disease. Swedish Internal Medicine Liver Club (SILK)
J Gastroenterol Hepatol. 2000 Apr;15(4):437-42.
McFarlane IG. Lessons about antibodies in autoimmune hepatitis. Lancet. 2000 Apr 29;355(9214):1475-6.
Zeniya M, Toda G. Autoimmune liver disease: current therapy. Intern Med. 2000 Apr;39(4):346-7.
Czaja AJ, Manns MP, McFarlane IG, Hoofnagle JH. Autoimmune hepatitis: the investigational and clinical challenges.
Hepatology. 2000 May;31(5):1194-200.
Czaja AJ, Sievers C, Zein NN. Nature and behavior of serum cytokines in type 1 autoimmune hepatitis. Dig Dis Sci. 2000 May;45(5):1028-35.
Obermayer-Straub P, Strassburg CP, Manns MP. Autoimmune hepatitis. J Hepatol. 2000;32(1 Suppl):181-97.
Manns MP. Hepatitis C and autoimmune hepatitis. Hepatology. 2000 Mar;31(3):811-2.
Vergani D. LKM antibody: getting in some target practice. Gut. 2000 Apr;46(4):449-50.
Agarwal K, Czaja AJ, Jones DE, Donaldson PT. Cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) gene polymorphisms and susceptibility to type 1
autoimmune hepatitis. Hepatology. 2000 Jan;31(1):49-53.
Tribl B, Schoniger-Hekele M, Petermann D, et al. Prevalence of GBV-C/HGV-RNA, virus genotypes, and anti-E2 antibodies in autoimmune
hepatitis. Am J Gastroenterol. 1999 Nov;94(11):3336-40.
Manns MP, Jaeckel E. Searching for the needle in the haystack: another candidate needle in autoimmune hepatitis?
Gastroenterology. 1999 Sep;117(3):728-32.
Czaja AJ, Cookson S, Constantini PK, et al. Cytokine polymorphisms associated with clinical features and treatment outcome in type 1
autoimmune hepatitis. Gastroenterology. 1999 Sep;117(3):645-52.
Bittencourt PL, Goldberg AC, Cancado EL, et al. Genetic heterogeneity in susceptibility to autoimmune hepatitis types 1 and 2.
Am J Gastroenterol. 1999 Jul;94(7):1906-13.
Lohse AW, zum Buschenfelde KH, Franz B, et al. Characterization of the overlap syndrome of primary biliary cirrhosis (PBC) and autoimmune
hepatitis: evidence for it being a hepatitic form of PBC in genetically susceptible individuals. Hepatology. 1999 Apr;29(4):1078-84.
Fernandes NF, Redeker AG, Vierling JM, Villamil FG, Fong TL. Cyclosporine therapy in patients with steroid resistant autoimmune hepatitis.
Am J Gastroenterol. 1999 Jan;94(1):241-8.
Wadstrom T, Ljungh A, Willen R. Primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis are of infectious origin! Gut. 2001 Sep;49(3):454.
Miyakawa H, Tanaka A, Kikuchi K, et al. Detection of antimitochondrial autoantibodies in immunofluorescent AMA-negative patients with
primary biliary cirrhosis using recombinant autoantigens. Hepatology. 2001 Aug;34(2):243-8.
Blachar A, Federle MP, Brancatelli G. Primary biliary cirrhosis: clinical, pathologic, and helical CT findings in 53 patients.
Radiology. 2001 Aug;220(2):329-36.
Odin JA, Huebert RC, Casciola-Rosen L, LaRusso NF, Rosen A. Bcl-2-dependent oxidation of pyruvate dehydrogenase-E2, a primary biliary
cirrhosis autoantigen, during apoptosis. J Clin Invest. 2001 Jul;108(2):223-32.
Gershwin ME, Van de Water J. Cholangiocytes and primary biliary cirrhosis: prediction and predication. J Clin Invest. 2001 Jul;108(2):187-8.
Newton J, Francis R, Prince M, et al. Osteoporosis in primary biliary cirrhosis revisited. Gut. 2001 Aug;49(2):282-7.
Vleggaar FP, van Buuren HR, Zondervan PE, et al. Jaundice in non-cirrhotic primary biliary cirrhosis: the premature ductopenic variant.
Gut. 2001 Aug;49(2):276-81.
Ohmoto K, Mitsui Y, Yamamoto S. Effect of bezafibrate in primary biliary cirrhosis: a pilot study. Liver. 2001 Jun;21(3):223-4.
Sakisaka S, Kawaguchi T, Taniguchi E, et al. Alterations in tight junctions differ between primary biliary cirrhosis and primary sclerosing
cholangitis. Hepatology. 2001 Jun;33(6):1460-8.
Nishio A, Bass NM, Luketic VA, et al. Primary biliary cirrhosis: from induction to destruction. Semin Gastrointest Dis. 2001 Apr;12(2):89-102.
Nakashima T, Yoh T, Sumida Y, Kakisaka Y, Mitsuyoshi H. Differences in the efficacy of ursodeoxycholic acid and bile acid metabolism
between viral liver diseases and primary biliary cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol. 2001 May;16(5):541-7.
Caballeria L, Pares A, Castells A, et al. Hepatocellular carcinoma in primary biliary cirrhosis: similar incidence to that in hepatitis C
virus-related cirrhosis. Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):1160-3.
Angulo P, Lindor KD. Primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis. Clin Liver Dis. 1999 Aug;3(3):529-70.
Van de Water J, Ishibashi H, Coppel RL, Gershwin ME. Molecular mimicry and primary biliary cirrhosis: premises not promises.
Hepatology. 2001 Apr;33(4):771-5.
Burroughs AK, Leandro G, Goulis J. Ursodeooxycholic acid for primary biliary cirrhosis. J Hepatol. 2001 Feb;34(2):352-3.
Battista S, Bar F, Mengozzi G, et al. Evidence of an increased nitric oxide production in primary biliary cirrhosis.
Am J Gastroenterol. 2001 Mar;96(3):869-75.
Czaja AJ, Santrach PJ, Breanndan Moore S. Shared genetic risk factors in autoimmune liver disease. Dig Dis Sci. 2001 Jan;46(1):140-7.
Harding G, McKenna R, Minuk G. The immune response to alkaline phosphatase and other immunogens in patients with primary biliary
cirrhosis. Hepatogastroenterology. 2001 Jan-Feb;48(37):66-70.
Weyman RL, Voigt M. Consecutive occurrence of primary biliary cirrhosis and autoimmune hepatitis: a case report and review of the literature.
Am J Gastroenterol. 2001 Feb;96(2):585-7.
Sherlock S. Primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, and autoimmune cholangitis. Clin Liver Dis. 2000 Feb;4(1):97-113.
Miyakawa H, Kikuchi K, Jong-Hon K, et al. High sensitivity of a novel ELISA for anti-M2 in primary biliary cirrhosis.
J Gastroenterol. 2001;36(1):33-8.
Tanaka A, Borchers AT, Ishibashi H, et al. Genetic and familial considerations of primary biliary cirrhosis.
Am J Gastroenterol. 2001 Jan;96(1):8-15.
Ishibashi H. Are primary biliary cirrhosis and autoimmune cholangitis reflective of the pendulum of a clock and therefore represent a
phase of the same disease? J Gastroenterol Hepatol. 2001 Feb;16(2):121-3.
Donaldson P, Agarwal K, Craggs A, et al. HLA and interleukin 1 gene polymorphisms in primary biliary cirrhosis: associations with disease
progression and disease susceptibility. Gut. 2001 Mar;48(3):397-402.
Yabushita K, Yamamoto K, Ibuki N, Okano N, Matsumura S, Okamoto R, Shimada N, Tsuji T. Aberrant expression of cytokeratin 7 as a
histological marker of progression in primary biliary cirrhosis. Liver. 2001 Feb;21(1):50-5.
Kawamura K, Kobayashi Y, Kageyama F, et al. Enhanced hepatic lipid peroxidation in patients with primary biliary cirrhosis.
Am J Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3596-601.
Miyaguchi S, Ebinuma H, et al. A novel treatment for refractory primary biliary cirrhosis? Hepatogastroenterology.
2000 Nov-Dec;47(36):1518-21.
Lindor KD, Jorgensen RA, Tiegs RD, Khosla S, Dickson ER. Etidronate for osteoporosis in primary biliary cirrhosis: a randomized trial.
J Hepatol. 2000 Dec;33(6):878-82.
Jones DE. Autoantigens in primary biliary cirrhosis. J Clin Pathol. 2000 Nov;53(11):813-21.
Almasio PL, Floreani A, Chiaramonte M, et al. Multicentre randomized placebo-controlled trial of ursodeoxycholic acid with or without
colchicine in symptomatic primary biliary cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther. 2000 Dec;14(12):1645-52.
Corpechot C, Carrat F, Bonnand AM, Poupon RE, Poupon R. The effect of ursodeoxycholic acid therapy on liver fibrosis progression
in primary biliary cirrhosis. Hepatology. 2000 Dec;32(6):1196-9.
Matsumoto T, Kobayashi S, Shimizu H, et al. The liver in collagen diseases: pathologic study of 160 cases with particular reference to hepatic
arteritis, primary biliary cirrhosis, autoimmune hepatitis and nodular regenerative hyperplasia of the liver. Liver. 2000 Oct;20(5):366-73.
Kurihara T, Niimi A, Maeda A, Shigemoto M, Yamashita K. Bezafibrate in the treatment of primary biliary cirrhosis: comparison with
ursodeoxycholic acid. Am J Gastroenterol. 2000 Oct;95(10):2990-2.
Tanaka A, Nalbandian G, Leung PS, et al. Mucosal immunity and primary biliary cirrhosis: presence of antimitochondrial antibodies in urine.
Hepatology. 2000 Nov;32(5):910-5.
Angulo P, Patel T, Jorgensen RA, et al. Silymarin in the treatment of patients with primary biliary cirrhosis with a suboptimal response to
ursodeoxycholic acid. Hepatology. 2000 Nov;32(5):897-900.
Neuberger J. Recurrent primary biliary cirrhosis. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Aug;14(4):669-80.
Angulo P, Dickson ER. The timing of liver transplantation in primary biliary cirrhosis.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Aug;14(4):657-68.
Wolfhagen FH, van Buuren HR, Vleggaar FP, Schalm SW. Management of osteoporosis in primary biliary cirrhosis.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Aug;14(4):629-41.
Poupon R, Poupon RE. Treatment of primary biliary cirrhosis. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Aug;14(4):615-28.
Ludwig J. The pathology of primary biliary cirrhosis and autoimmune cholangitis. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Aug;14(4):601-13.
Strassburg CP, Manns MP. Autoimmune tests in primary biliary cirrhosis. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Aug;14(4):585-99.
Jansen PL. The pathophysiology of cholestasis with special reference to primary biliary cirrhosis. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2000 Aug;14(4):571-83.
Nakanuma Y, Tsuneyama K, Sasaki M, Harada K. Destruction of bile ducts in primary biliary cirrhosis. Baillieres Best Pract Res Clin
Doenas do Aparelho Digestivo
644
Gastroenterol. 2000 Aug;14(4):549-70.
Fracchia M, Secreto P, Tabone M, et al. Serum interferon gamma in primary biliary cirrhosis: effect of ursodeoxycholic acid and prednisone
therapy alone and in combination. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Apr;12(4):463-8.
Heathcote EJ. Management of primary biliary cirrhosis. The American Association for the Study of Liver Diseases practice guidelines.
Hepatology. 2000 Apr;31(4):1005-13.
Nakai S, Masaki T, Kurokohchi K, Deguchi A, Nishioka M. Combination therapy of bezafibrate and ursodeoxycholic acid in primary biliary
cirrhosis: a preliminary study. Am J Gastroenterol. 2000 Jan;95(1):326-7.
Wiesner RH. Liver transplantation for primary sclerosing cholangitis: timing, outcome, impact of inflammatory bowel disease and recurrence
of disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Aug;15(4):667-80.
Meier PN, Manns MP. Medical and endoscopic treatment in primary sclerosing cholangitis.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Aug;15(4):657-66.
Bergquist A, Broome U. Hepatobiliary and extra-hepatic malignancies in primary sclerosing cholangitis.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Aug;15(4):643-56.
Terjung B, Worman HJ. Anti-neutrophil antibodies in primary sclerosing cholangitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Aug;15(4):629-42.
Donaldson PT, Norris S. Immunogenetics in PSC. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Aug;15(4):611-27.
Cullen S, Chapman R. Aetiopathogenesis of primary sclerosing cholangitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Aug;15(4):577-89.
Talwalkar JA, Lindor KD. Natural history and prognostic models in primary sclerosing cholangitis.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Aug;15(4):563-75.
Schrumpf E, Boberg KM. Epidemiology of primary sclerosing cholangitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2001 Aug;15(4):553-62.
Satsangi J, Chapman RW, Haldar N, et al. A functional polymorphism of the stromelysin gene (MMP-3) influences susceptibility to primary
sclerosing cholangitis. Gastroenterology. 2001 Jul;121(1):124-30.
Freeman ML, Cass OW, Dailey J. Dilation of high-grade pancreatic and biliary ductal strictures with small-caliber angioplasty balloons.
Gastrointest Endosc. 2001 Jul;54(1):89-92.
Linder S, Soderlund C. Endoscopic therapy in primary sclerosing cholangitis: outcome of treatment and risk of cancer.
Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):387-92.
Harnois DM, Angulo P, Jorgensen RA, Larusso NF, Lindor KD. High-dose ursodeoxycholic acid as a therapy for patients with primary sclerosing
cholangitis. Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1558-62.
Torok N, Gores GJ. Cholangiocarcinoma. Semin Gastrointest Dis. 2001 Apr;12(2):125-32.
Zein CO, Lindor KD. Primary sclerosing cholangitis. Semin Gastrointest Dis. 2001 Apr;12(2):103-12.
Fleming KA, Boberg KM, Glaumann H, et al. Biliary dysplasia as a marker of cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis.
J Hepatol. 2001 Mar;34(3):360-5.
Goolamali SI, Taylor-Robinson SD. Endoscopic retrograde cholangio-pancreatography appearances of early primary sclerosing cholangitis.
J Clin Gastroenterol. 2001 May-Jun;32(5):460-1.
Kaya M, de Groen PC, Angulo P, Nagorney DM, Gunderson LL, Gores GJ, Haddock MG, Lindor KD. Treatment of cholangiocarcinoma
complicating primary sclerosing cholangitis: the Mayo Clinic experience. Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):1164-9.
Kaya M, Petersen BT, Angulo P, et al. Balloon dilation compared to stenting of dominant strictures in primary sclerosing cholangitis.
Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):1059-66.
Norris S, Kondeatis E, Collins R, et al. Mapping MHC-encoded susceptibility and resistance in primary sclerosing cholangitis: the role of MICA
polymorphism. Gastroenterology. 2001 May;120(6):1475-82.
Angulo P, Lindor KD. Primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis. Clin Liver Dis. 1999 Aug;3(3):529-70.
Hatzis GS, Vassiliou VA, Delladetsima JK. Overlap syndrome of primary sclerosing cholangitis and autoimmune hepatitis.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Feb;13(2):203-6.
Baluyut AR, Sherman S, Lehman GA, Hoen H, Chalasani N. Impact of endoscopic therapy on the survival of patients with primary sclerosing
cholangitis. Gastrointest Endosc. 2001 Mar;53(3):308-12.
Schrumpf E, Boberg KM. Primary sclerosing cholangitis: challenges of a new millenium. Dig Liver Dis. 2000 Dec;32(9):753-5.
Tung BY, Emond MJ, Haggitt RC, et al. Ursodiol use is associated with lower prevalence of colonic neoplasia in patients with ulcerative
colitis and primary sclerosing cholangitis. Ann Intern Med. 2001 Jan 16;134(2):89-95.
Jayaram H, Satsangi J, Chapman RW. Increased colorectal neoplasia in chronic ulcerative colitis complicated by primary sclerosing cholangitis:
fact or fiction? Gut. 2001 Mar;48(3):430-4.
Kubicka S, Kuhnel F, Flemming P, et al. K-ras mutations in the bile of patients with primary sclerosing cholangitis. Gut. 2001 Mar;48(3):403-8.
Bjornsson ES, Kilander AF, Olsson RG. Bile duct bacterial isolates in primary sclerosing cholangitis and certain other forms of cholestasis
a study of bile cultures from ERCP. Hepatogastroenterology. 2000 Nov-Dec;47(36):1504-8.
Angulo P, Lindor KD. Primary sclerosing cholangitis: emerging new promising therapies. J Clin Gastroenterol. 2000 Dec;31(4):271-3.
Saarinen S, Olerup O, Broome U. Increased frequency of autoimmune diseases in patients with primary sclerosing cholangitis.
Am J Gastroenterol. 2000 Nov;95(11):3195-9.
Talwalkar JA, LaRusso NF, Lindor KD. Defining the relationship between autoimmune disease and primary sclerosing cholangitis.
Am J Gastroenterol. 2000 Nov;95(11):3024-6.
van den Hazel SJ, Wolfhagen EH, van Buuren HR, van de Meeberg PC, Van Leeuwen DJ. Prospective risk assessment of endoscopic retro-
grade cholangiography in patients with primary sclerosing cholangitis. Dutch PSC Study Group. Endoscopy. 2000 Oct;32(10):779-82.
Haider MA, Bret PM. The role of magnetic resonance cholangiography in primary sclerosing cholangitis. J Hepatol. 2000 Oct;33(4):659-60.
Angulo P, Pearce DH, Johnson CD, et al.Magnetic resonance cholangiography in patients with biliary disease: its role in primary sclerosing
cholangitis. J Hepatol. 2000 Oct;33(4):520-7.
Bharucha AE, Jorgensen R, Lichtman SN, LaRusso NF, Lindor KD. A pilot study of pentoxifylline for the treatment of primary sclerosing
cholangitis. Am J Gastroenterol. 2000 Sep;95(9):2338-42.
Angulo P, Batts KP, Jorgensen RA, LaRusso NA, Lindor KD. Oral budesonide in the treatment of primary sclerosing cholangitis.
Am J Gastroenterol. 2000 Sep;95(9):2333-7.
Angulo P, Lindor KD. Medical treatment for primary sclerosing cholangitis: risk versus benefit. Hepatology. 2000 Oct;32(4 Pt 1):871-2.
Domschke W, Klein R, Terracciano LM, et al. Sequential occurrence of primary sclerosing cholangitis and autoimmune hepatitis type III in a
patient with ulcerative colitis: a follow up study over 14 years. Liver. 2000 Jul;20(4):340-5.
van Hoogstraten HJ, Vleggaar FP, Boland GJ, et al. Budesonide or prednisone in combination with ursodeoxycholic acid in primary sclerosing
cholangitis: a randomized double-blind pilot study. Belgian-Dutch PSC Study Group. Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8):2015-22.
Fong DG, Lindor KD. Future directions in the medical treatment of primary sclerosing cholangitis: the need for combination drug therapy.
Am J Gastroenterol. 2000 Aug;95(8):1861-2.
Chung JP. Primary or secondary sclerosing cholangitis? Endoscopy. 2000 Aug;32(8):664-5.
FGADO - Doenas Hepticas Auto-Imunes
645
Boberg KM, Schrumpf E, Bergquist A, et al. Cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis: K-ras mutations and Tp53 dysfunction
are implicated in the neoplastic development. J Hepatol. 2000 Mar;32(3):374-80.
Tsuneyama K, Saito K, Ruebner BH, et al.Immunological similarities between primary sclerosing cholangitis and chronic sclerosing
sialadenitis: report of the overlapping of these two autoimmune diseases. Dig Dis Sci. 2000 Feb;45(2):366-72.
Angulo P, Peter JB, Gershwin ME, et al. Serum autoantibodies in patients with primary sclerosing cholangitis.
J Hepatol. 2000 Feb;32(2):182-7.
Younossi ZM, Kiwi ML, Boparai N, Price LL, Guyatt G. Cholestatic liver diseases and health-related quality of life.
Am J Gastroenterol. 2000 Feb;95(2):497-502.
Tillmann HL, Jackel E, Manns MP. Liver transplantation in autoimmune liver diseaseselection of patients.
Hepatogastroenterology. 1999 Nov-Dec;46(30):3053-9.
de Groen PC. Cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis: who is at risk and how do we screen?
Hepatology. 2000 Jan;31(1):247-8.
Chalasani N, Baluyut A, Ismail A, et al. Cholangiocarcinoma in patients with primary sclerosing cholangitis: a multicenter case-control study.
Hepatology. 2000 Jan;31(1):7-11.
Schramm C, Schirmacher P, Helmreich-Becker I, et al. Combined therapy with azathioprine, prednisolone, and ursodiol in patients with primary
sclerosing cholangitis. A case series. Ann Intern Med. 1999 Dec 21;131(12):943-6.
Angulo P, Larson DR, Therneau TM, et al. Time course of histological progression in primary sclerosing cholangitis.
Am J Gastroenterol. 1999 Nov;94(11):3310-3.
Graziadei IW, Wiesner RH, Marotta PJ, et al. Long-term results of patients undergoing liver transplantation for primary sclerosing cholangitis.
Hepatology. 1999 Nov;30(5):1121-7.
Ponsioen CY, Lam K, van Milligen de Wit AW, Huibregtse K, Tytgat GN. Four years experience with short term stenting in primary sclerosing
cholangitis. Am J Gastroenterol. 1999 Sep;94(9):2403-7.
Al-Kawas FH. Endoscopic management of primary sclerosing cholangitis: less is better! Am J Gastroenterol. 1999 Sep;94(9):2235-6.
Ponsioen CY, Kuiper H, Ten Kate FJ, et al. Immunohistochemical analysis of inflammation in primary sclerosing cholangitis.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Jul;11(7):769-74.
DOdorico A, Melis A, Baragiotta A, et al. Oxygen-derived free radical production by peripheral blood neutrophils in chronic cholestatic liver
diseases. Hepatogastroenterology. 1999 May-Jun;46(27):1831-5.
Angulo P, Lindor KD. Primary sclerosing cholangitis. Hepatology. 1999 Jul;30(1):325-32.
Stiehl A. Value of brush border cytology for dominant strictures in primary sclerosing cholangitis. Endoscopy. 1999 May;31(4):333-4.
Ponsioen CY, Vrouenraets SM, van Milligen de Wit AW, et al. Value of brush cytology for dominant strictures in primary sclerosing cholangitis.
Endoscopy. 1999 May;31(4):305-9.
Raj V, Lichtenstein DR. Hepatobiliary manifestations of inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Jun;28(2):491-513.
Shetty K, Rybicki L, Brzezinski A, Carey WD, Lashner BA. The risk for cancer or dysplasia in ulcerative colitis patients with primary sclerosing
cholangitis. Am J Gastroenterol. 1999 Jun;94(6):1643-9.
Kim WR, Poterucha JJ, Wiesner RH, LaRusso NF, et al. The relative role of the Child-Pugh classification and the Mayo natural history model
in the assessment of survival in patients with primary sclerosing cholangitis. Hepatology. 1999 Jun;29(6):1643-8.
Olsson R, Broome U, Danielsson A, et al. Spontaneous course of symptoms in primary sclerosing cholangitis: relationships with biochemical
and histological features. Hepatogastroenterology. 1999 Jan-Feb;46(25):136-41.
van Milligen de Wit AW, Kuiper H, Camoglio L, et al. Does ursodeoxycholic acid mediate immunomodulatory and anti-inflammatory effects
in patients with primary sclerosing cholangitis? Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Feb;11(2):129-36.
Graziadei IW, Wiesner RH, Batts KP, et al. Recurrence of primary sclerosing cholangitis following liver transplantation.
Hepatology. 1999 Apr;29(4):1050-6.
Berr F, Wiedmann M, Mossner J, et al. Detection of cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis by positron emission tomography.
Hepatology. 1999 Feb;29(2):611-3.
Doenas do Aparelho Digestivo
646
FGADO - Doenas Metablicas e Genticas
647
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXXI
DOENAS METABLICAS E GENTICAS
1. Hepatopatias Esteatsicas No Alcolicas
2. Hemacromatose Hereditria
3. Doena de Wilson
647
Doenas do Aparelho Digestivo
1. HEPATOPATIAS ESTEATSICAS NO ALCOLICAS
As hepatopatias esteatsicas no alcolicas (HENAs) constituem um espectro de enti-
dades que incluem a esteatose simples, a esteatose com inflamao no especfica,
a esteatonecrose e a esteatohepatite. Todas estas doenas hepticas esteatsicas no
alcolicas so caracterizadas pela elevao srica das aminotransferases na ausncia
de consumo excessivo de lcool ou de outras hepatopatias.
As HENAs so mais comuns no obeso e nos diabticos tipo II, embora possam ocor-
rer em doentes magros e no diabticos. Alm disso, diferentes tipos de HENAs tm
sido descritos em mltiplas situaes: bypass jejunoileal, resseco intestinal, abe-
talipoproteinmia, doena de Weber-Christian e toma de amiodarona, glucocortici-
des, estrognios sintticos e tamoxifeno.
1 EPIDEMIOLOGIA
A prevalncia de HENAs na populao global no se encontra ainda bem definida. Em
sries de autpsia, estimou-se em 3% a prevalncia de esteatose simples. Num outro
estudo envolvendo autpsia em mais de 250 indivduos, a prevalncia de esteatone-
crose foi de cerca de 3% em indivduos magros e de aproximadamente 19% em obe-
sos. A prevalncia poder atingir taxas de 20-50% em certos grupos populacionais de
alto risco (obesidade e diabetes tipo II). Na clnica corrente, uma das principais cau-
sas de elevao das transaminases em indivduos assintomticos, a HENA.
Continua a ser matria de debate a possibilidade das HENAs evolurem para doena
heptica avanada e cirrose. Embora os estudos mais antigos sugerissem uma evolu-
o benigna e no progressiva, dados recentes evidenciam que cerca de 8-17% dos
doentes com esteatohepatite no alcolica progridem para a cirrose num perodo de
1-7 anos. Em contraste, a esteatose simples no evidencia propenso para cirrose.
2 PATOGNESE
A patognese das HENAs no est ainda classificada. Postula-se que o stress oxidati-
vo joga um papel central na patogenia das formas agressivas de HENA. Num primei-
ro tempo, ocorre excessiva acumulao de gordura no parnquima heptico, que pode
resultar de mltiplas causas, designadamente da obesidade e da hiperlipidmia. Num
segundo tempo, sobrevem o stress oxidativo heptico, que resultaria de anomalias no
metabolismo dos cidos gordos livres, de um aumento da resistncia insulina, ou
de uma actividade anormal de protenas mitocndriais. O stress oxidativo usualmen-
te balanceado pelos mecanismos antioxidantes de defesa do organismo. Quando
esses mecanismos esto ultrapassados, ocorre numa cascata de eventos que induz
FGADO - Doenas Metablicas e Genticas
649
leso hepatocitria directa, activao das clulas de Ito e gerao de citocinas pr-
inflamatrias, com consequente progresso da doena. Admite-se quer o stress oxida-
tivo induz peroxidao lipdica e metabolitos intermedirios potencialmente txicos
responsveis pela inflamao e desenvolvimento de balonizao dos hepatcitos e
fibrose. Esse tress oxidativo pode ser agravado por vrios factores, designadamente
pela sobrecarga de ferro.
3 AVALIAO CLNICA
Correntemente o doente com HENA apresenta-se assintomtico, eventualmente com
elevao das transaminases sricas ou hepatomeglia. Pode referir fadiga, mal estar,
sensao dolorosa vaga no hipocndrio direito e outros sintomas no especficos.
Embora tipicamente ocorra na quarta dcada da vida, a HENA, pode surgir mais pre-
cocemente.
Na avaliao do doente, essencial obter uma histria rigorosa quanto ao consumo
de lcool. Actualmente, a maioria dos autores considera excessivo o consumo supe-
rior a 20 gr/dia na mulher, e mais de 30-40 gr/dia no homem. Devem ser solicitados
testes laboratoriais indiciadores de consumo de lcool.
importante tambm, nessa avaliao clnica, excluir outras hepatopatias, pois a
HENA um diagnstico de excluso. Por outro lado, deve investigar-se a existncia de
hiperlipidmia, diabetes de tipo II e grau de obesidade.
No tocante a testes laboratoriais hepticos, as transaminases oxalactica e pirvica
esto tipicamente elevadas em mais de 90% dos doentes com HENA. Essas elevaes
so modestas, no excedendo 3 vezes o padro normal, geralmente com a relao
TGP/TGO>1, ao contrrio do que sucede na doena heptica alcolica. A fosfatase alca-
lina, a albumina srica, a bilirrubinmia, protrombinmia e a GT podem encontrar-
se ocasionalmente alteradas.
No respeitante a estudos imagiolgicos, nomeadamente ultra-sonografia, TAC e RM,
podem sugerir infiltrao esteatsica na vigncia de textura hiperecognica, mas no
distinguem entre esteatose simples e esteatohepatite. A ecografia o exame mais
barato e no invasivo.
A bipsia heptica o exame gold standard para o diagnstico de HENA, na medida
em que distingue os seus vrios subtipos histolgicos. Esta informao pode ser
especialmente importante para estadiar a doena heptica e prognosticar o curso
potencial da enfermidade.
Embora o estudo histolgico seja importante para a definio da HENA, ainda no
existe consenso quanto s caractersticas histolgicas exactas para estabelecer o diag-
Doenas do Aparelho Digestivo
650
nstico de esteatohepatite no alcolica. Embora esta designao tenha colhido
ampla aceitao, importante relembrar que o termo esteatohepatite significa literal-
mente esteatose + inflamao. No entanto, o conceito actual de estatohepatite no
alcolica descreve uma entidade caracterizada histolgicamente por acumulao pro-
gressiva de gordura no fgado, balonizao hepatocitria, necrose e/ou fibrose. As
fronteiras histolgicas entre os restantes subtipos da HENA no esto ainda exacta-
mente definidas. No intuito de padronizar o diagnstico antomo-patolgico das
HENAs, uma reunio de consenso recentemente realizada identificou 6 aspectos lesio-
nais, entre 19 prviamente seleccionados, que concitaram o melhor ndice de concor-
dncia inter e intra-observadores: extenso da esteatose, grau de fibrose, presena de
fibrose sinusoidal e perivenular, vacolos nucleares e balonizao. Concluiu-se que a
bipsia prov importante informao prognstica, no estando ainda bem esclarecido
o seu valor no tocante ao diagnstico e tratamento das HENAs. A bipsia essencial
na investigao clnica desta entidade, e joga um papel central no estudo da progres-
so da doena ao longo do tempo. Na prtica clnica, controversa a utilizao roti-
neira da bipsia heptica, postulando-se que deve ser considerada em doentes jovens
(sobretudo com diabetes tipo II) e nos que no evidenciam alteraes aps a elimi-
nao dos factores de risco e condies associadas.
4 TERAPUTICA
O principal objectivo da teraputica das HENAs prevenir que a fibrose evolua para
cirrose. No existe presentemente nenhum frmaco que concretize esse objectivo.
No doente obeso, deve reduzir-se gradualmente o peso. H indicaes de que esta
medida benfica para a hepatopatia. tambm importante tratar a hiperlipidmia e
a diabetes mellitus.
Foi proposta recentemente como teraputica mdica das HENAs, e designadamente da
esteatohepatite no alcolica, a combinao do cido ursodesoxiclico com antioxi-
dantes (Vit. E). os resultados promissores registados em ensaios preliminares, esto
a ser presentemente investigados no mbito de ensaios randomizados e controlados.
2. HEMOCROMATOSE HEREDITRIA
1 INTRODUO
A recente identificao e clonagem do gene HFE da hemocromatose hereditria (HH)
representa uma descoberta de enorme relevncia na compreenso e abordagem da
doena.
FGADO - Doenas Metablicas e Genticas
651
Por outro lado, foi progressivamente comprovado que o ferro desempenha um impor-
tante papel em vrias doenas hepticas, alm da HH. Por exemplo, em 40-50% dos
doentes com doena heptica alcolica, hepatite crnica C e esteatohepatite no
alcolica, existem anomalias em vrios marcadores sricos do metabolismo do ferro.
Alm disso, comprovou-se a existncia de elevada prevalncia de heterozigotia para
o gene da HH em doentes com porfiria cutnea tarda e esteatohepatite no alcoli-
ca.
O termo hemocromatose deve ser reservado para a doena heredofamiliar ligada ao
gene HFE, induzida pela absoro inapropriada de ferro pela mucosa gastrointestinal,
que determina a sua acumulao excessiva nas clulas parenquimatosas do fgado,
pncreas, corao e outros orgos. Este depsito de ferro pode induzir leses celula-
res e tissulares, fibrose e insuficincia funcional.
Existem vrios sindromas de sobrecarga de ferro clinicamente distintos da hemocro-
matose hereditria, com a qual no devem ser confundidos:
SOBRECARGA SECUNDRIA DE FERRO
Anemia por eritropoiese ineficaz (-talassmia, anemia sideroblstica, anemia apl-
sica)
Doenas hepticas (doena heptica alcolica, hepatite crnicas B e C, shunt
porto-cava, porfiria cutnea tarda)
Miscelnea (ingesto excessiva de ferro, atransferrinmia congnita)
SOBRECARGA PARENTERAL DE FERRO
Transfuses de glbulos vermelhos
Injeces de dextrano ferroso
Hemodilise de longa evoluo
SOBRECARGA DE FERRO NEONATAL
Doena rara, provvelmente resultante de afeco viral durante a gravidez
A hemocromatose hereditria (HH) uma desordem frequente do metabolismo do
ferro que afecta cerca de 1 em 250-300 indivduos caucasianos. Existem actualmente
mtodos de deteco precoce da HH em indivduos afectados e seus familiares pr-
ximos, no sendo mais justificado confinar o diagnstico exclusivamente aos indiv-
duos sintomticos ou que evidenciam patologia de orgo, designadamente cirrose,
diabetes, insuficincia cardaca, artrite ou pigmentao cutnea.
Doenas do Aparelho Digestivo
652
2 GENTICA
O gene HFE codifica uma protena do complexo de histocompatibilidade major (MHC),
classe I, que requer a interaco com a 2-microglobulina (2M) para a sua normal
apresentao na superfcie celular. Nos doentes com HH, foram identificadas at ao
momento duas mutaes nesse gene: uma resulta da troca de cistena por tirosina na
posio 282 (C282Y); a Segunda consiste na troca de histidina por aspartato na posi-
o 63 da cadeia de aminocidos (H63D). no estudo original de Feder e al., 83% dos
fentipos com HH eram homozigotos para a mutao C282Y, enquanto que oito doen-
tes com HH (4%) eram heterozigotos, caracterizados por apresentarem num alelo com
a mutao H63D. Estudos posteriores confirmaram as observaes destes investiga-
dores norte-americanos, no entanto reportam-se ainda cerca de 10-15% de doentes
com um sindrome clnico fenotipicamente similar HH, que no evidenciam a presen-
a da mutao C282Y. desconhece-se ainda o significado destes achados.
3 PATOFISIOLOGIA
Ainda desconhecido o mecanismo pelo qual o gene HFE regula a absoro intesti-
nal de ferro, bem como a causa que motiva a absoro excessiva de ferro pela muta-
o C282Y. uma hiptese ser a existncia de deficincia da b2M.
Estudos recentes evidenciaram que o HFE parece Ter algum tipo de associao fsica
com os receptores da transferrina, ao contrrio do que sucederia com a mutao C282Y.
4 CLNICA
A HH foi considerada, durante longos anos, uma afeco rara, na medida em que era
diagnosticada essencialmente com base nos sintomas e sinais clnicos: diabetes e pig-
mentao da pele (diabetes bronzeada) e cirrose. Com os modernos mtodos de
deteco apurou-se que a HH surgem em 1 por 250 indivduos caucasianos, e a fre-
quncia de heterozigotia ocorre aproximadamente em 1 em 10 indivduos. A HH
actualmente considerada a mais frequente doena hereditria na populao de raa
branca.
A maioria dos doentes ( 75%), identificados em metodologias de rastreio so assin-
tomticos, mas exibindo nenhuma das manifestaes tardias da HH. Cerca de 25%
desses doentes refere fadiga, que melhora com o tratamento. importante por isso
sublinhar que, sendo to comum a HH, deve ser suspeitada em doentes com eleva-
o da saturao da transferrina ou elevao srica da ferritina.
Quando os doentes apresentam sintomatologia, as queixas mais tpicas so: fadiga,
FGADO - Doenas Metablicas e Genticas
653
dor no hipocndrio direito, artralgias, impotncia, diminuio da lbido, sintomas de
insuficincia cardaca ou diabetes.
Relativamente ao exame fsico, podemos encontrar sinais de hepatomeglia, cirrose,
manifestaes extra-hepticas de doena heptica crnica, atrofia testicular, sinais de
insuficincia cardaca congestiva, pigmentao bronzeada da pele e artrite.
Nas sries antigas, reportava-se que o incio da doena na mulher acontecia mais tar-
diamente do que no homem. Mais recentemente, dado que uma proporo crescente
de doentes identificada por rastreio, esse facto j no clinicamente sustentado.
5 DIAGNSTICO
Ante a suspeita clnica ou bioqumica de hemocromatose hereditria, devem ser soli-
citados os seguintes exames para confirmao do diagnstico:
COMENTRIOS
Cerca de 30% das mulheres com HH, e com idade inferior a 30 anos, apresenta valo-
res normais da saturao de transferrina.
Doenas do Aparelho Digestivo
654
ACHADOS LABORATORIAIS EM DOENTES COM HEMOCROMATOSE HEREDITRIA (HH)
Doentes com HH
Exame Indivduos Normais Assintomticos Sintomticos
Sangue (jejum)
Sidermia (g/dl) 60 180 150 280 180 300
Transferrinmia (gr/dl) 220 410 200 280 200 300
Saturao da transferrina (%) 20 50 45 100 80 100
Ferritina srica (ng/ml)
Homem 20 200 150 1000 500 - 6000
Mulher 15 150 120 1000 500 6000
Gentica (anlise da mutao do HFE)
C282Y / C282Y Negativo C282Y/C282Y C282Y/C282Y
C282Y / H63D * Negativo C282Y / H63D C282Y / H63D
Bipsia heptica
Concentrao do ferro
g/gr, peso seco 300 1500 2000 10000 8000 - 30000
mole/gr, peso seco 5 27 35 79 140 - 550
ndice do ferro heptico ** < 1 1 - >1.9 > 1.9
Histologia heptica (perls Prussian) 0 1 + 2+ a 4+ 3+, 4+
* Composto heterozigoto
** Este ndice calculado dividindo a concentrao de ferro heptico (em mmole/gr, peso seco) pela idade do doente (em anos).
Na ausncia de HH, os estudos do ferro srico e predominantemente da ferritina
podem revelar-se anormais em cerca de 40-50% dos doentes com hepatite viral cr-
nica, esteatohepatite no alcolica e doena heptica alcolica. Alm disso, a ferriti-
na pode elevar-se em doenas inflamatrias (por ex. artrite reumatide) e em vrias
neoplasias (por ex. linfoma), na ausncia de sobrecarga de ferro.
Contudo, na ausncia de outras doenas, a combinao de uma saturao elevada de
transferrina e subida dos nveis sanguneos da ferritina, evidencia uma sensibilidade
e especificidade de cerca de 90% para o diagnstico de HH. Na mulher jovem, basta
que esses valores ultrapassem os 55% e 300 ng/ml, respectivamente.
Se o coeficiente de saturao da transferrina se encontra elevado, ou os nveis da fer-
ritinmia ultrapassam os limites da normalidade, deve realizar-se bipsia heptica
para esclarecer o diagnstico, utilizando mtodos histoqumicos de colorao do ferro
(Perls Prussian Blue Stain), e determinando bioquimicamente a concentrao hepti-
ca do ferro para calcular o ndice heptico deste metal. Adicionalmente, a bipsia
heptica pode indicar o grau de fibrose, se existe ou no cirrose, e outras anomalias
histolgicas.
Do ponto de vista prognstico, importante investigar na bipsia a presena de fibro-
se ou de cirrose, atendendo a que o risco de hepatocarcinoma maior neste ltimo
contexto.
6 TERAPUTICA
O tratamento simples, barato e incuo. O doente convidado a realizar flebotomias
teraputicas de 500 cc de sangue total, equivalente a cerca de 200-500 mgr de ferro,
de acordo com a concentrao de hemoglobina do sangue removido. Alguns doentes
toleram duas flebotomias por semana. No recomendvel a realizao de fleboto-
mias com ritmo mensal.
As flebotomias devem continuar at que a saturao de transferrina seja < 50% e a
ferritinmia < 50 ng/dl. No h necessidade de alcanar uma situao de anemia
(hematcrito<30%), como alguns autores preconizam.
A maioria dos doentes toleram bem esta teraputica, com progressiva sensao de
bem estar. As transaminases, se estavam elevadas, tm tendncia a normalizar. No
h reverso nos quadros de cirrose. Outros benefcios das flebotomias: diminuio da
pigmentao cutnea, melhoria na funo cardaca, reduo das necessidades em
insulina no doente diabtico, reduo na dor abdominal e aumento de energia. Alm
da cirrose, tambm no revertem com esta teraputica, a atrofia testicular e as artro-
patias.
FGADO - Doenas Metablicas e Genticas
655
Completada a teraputica inicial, com depleco dos depsitos ex cessivos de ferro,
a maioria dos doentes requer flebotomias de manuteno, com remoo de 1 unida-
de de sangue cada 2-3 meses. Como o doente com HH absorve cerca de 3 mgr/dia
de ferro para alm das carncias dirias, ao fim de um perodo de 3 meses acumula
cerca de 270 mgr, pelo que uma flebotomia (=250 mgr de ferro) trimestral usual-
mente adequada.
7 RASTREIO
Recomenda-se que os familiares em 1 grau do doente com HH, designadamente pais,
irmos e filhos, sejam submetidos a um plano de rastreio. Tios e primos deveriam ser
tambm objecto de estudo.
O rastreio mnimo a realizar seria o estudo da saturao da transferrina, em jejum.
A deteco da serotipagem HLA tem vindo a ser substitudo gradualmente pelo teste
gentico.
Continua em debate a questo de saber se o teste gentico dever ser aplicado no
rastreio da populao global. Num estudo norte-americano recente, defende-se que o
teste ser pertinente, em termos de custo-benefcio, se o seu preo no exceder 20
dlares. So necessrios mais estudos, no entanto, para uma definio apurada do
valor real do teste no mbito do rastreio.
No contexto do rastreio familiar, uma elevao da saturao da transferrina ou da fer-
ritinmia num familiar de um doente com HH, solicita a realizao de um teste gen-
tico ou, provvelmente, uma bipsia heptica para avaliaes histoqumicas e bioqu-
micas dos depsitos hepticos em ferro.
3. DOENA DE WILSON
Trata-se de uma doena hereditria autossmica recessiva envolvendo distrbios no
metabolismo do cobre, de que resulta a sua acumulao patolgica em muitos orgos
e tecidos.
Os traos essenciais da doena so caracterizados pela existncia de leso heptica,
sintomas neurolgicos e deteco de anis de Kaiser-Fleischer na crnea.
Doenas do Aparelho Digestivo
656
1 EPIDEMIOLOGIA
At recentemente, a doena de Wilson era considerada uma entidade rara.
Computava-se a incidncia em 1:30.000 a 1:50.000. no entanto, estas estimativas
baseavam-se sobretudo em pacientes com sinais neurolgicos. Dados mais recentes
acentuam que estes sinais podem no existir em cerca de 50% dos doentes. A doen-
a de Wilson seguramente mais frequente do que inicialmente se pensava. Cerca de
3-6% dos doentes transplantados por insuficincia heptica aguda tm doena de
Wilson. Por outro lado, cerca de 16% das hepatites crnicas activas do adulto jovem,
de causa desconhecida, so atribudas doena de Wilson.
2 PATOGNESE
O defeito bsico na doena de Wilson a deficiente excreo biliar de cobre, de que
resulta a sua acumulao em vrios rgos, incluindo o fgado, o crebro e a crnea,
com o subsequente desenvolvimento de doena heptica e neurolgica severa.
O excesso de cobre nos tecidos induz produo de radicais livres e ciso do ADN. A
respirao mitocondrial particularmente afectada, induzindo diminuio da activida-
de do citocromo C. a leso das mitocndrias um dos achados patolgicos mais pre-
coces no fgado. A leso heptica induz aumento da peroxidao lipdica e anormal
respirao mitocondrial.
A patognese da leso neurolgica menos clara. Essa leso mediada pela depo-
sio de cobre no crebro. O cobre pode Ter uma aco txica directa, ou exercer os
seus efeitos por inibio selectiva da monoaminoxidade A cerebral. A recente desco-
berta do gene da doena de Wilson poder ajudar a clarificar a patofisiologia do meta-
bolismo do cobre.
O gene da doena de Wilson foi identificado por trs grupos independentes em 1993.
Este gene ATP7B , codifica a adenosina trifosfatase tipo P transportadora de cobre.
Encontra-se localizado no cromossoma 13.
At ao momento foram documentadas mais de 60 mutaes do gene, que determi-
nam uma maior ou menor severidade da doena.
3 CLNICA
O espectro clnico da doena de Wilson variegado. O padro mais comum integra a
doena heptica e perturbaes neuropsiquitricas. Nenhum dos sinais clnicos tpi-
co ou patogemnico.
FGADO - Doenas Metablicas e Genticas
657
Doena heptica
A maioria dos doentes apresentam doena heptica de grau varivel. A idade mais
comum de manifestao heptica situa-se entre os 8 e 18 anos. No entanto, a doen-
a de Wilson pode diagnosticar-se em doentes com hepatopatias avanadas e na faixa
etria dos 50 ou 60 anos, sem evidncia de sinais neurolgicos ou do anel de Kaiser-
Fleischer. A proporo de doentes que apresentam exclusivamente doena heptica
varia entre 20-46%.
A doena heptica pode mimetizar vrias formas de hepatopatias comuns: desde ele-
vaes assintomticas de transaminases at hepatite aguda, quadros de hepatite
aguda fulminante (cerca de um sexto dos doentes com apresentao heptica), hepa-
tite crnica ou cirrose (cerca de um em trs doentes) com as suas complicaes.
Quadro neurolgico
Os sintomas neurolgicos desenvolvem-se usualmente na adolescncia ou na faixa
etria dos 20 anos. Nalguns casos, surgem mais tardiamente. Os sintomas iniciais
podem consistir em anomalias subtis, com leve tremor e problema de escrita ou da
fala. O sinal neurolgico proeminente um distrbio progressivo do movimento. Os
sintomas mais comuns so: disartria, disfagia, apraxia e o cahamdo parkinsonismo
juvenil. Nos doentes com hepatopatia avanada, os sinais neurolgicos podem ser
confundidos com encefalopatia heptica.
Cerca de um tero dos doentes apresentam inicialmente distrbios psiquitricos: redu-
zido rendimento na escola e no trabalho, depresso, labilidade, exibicionismo sexual,
psicose.
Anis de Kaiser-Fleischer
Caractersticamente, o anel inicia-se com um pequeno crescente de pigmento granu-
loso castanho-dourado no topo do limbus. Segue-se o aparecimento de um crescen-
te inferior, posteriormente estes crescentes aumentam gradualmente e coalescem, for-
mando anis completos. O achado de um anel completo sugere doena de longa evo-
luo e indica um depsito severo de cobre. Nem sempre a inspeco ocular detecta
estes anis. Em caso de dvida, a crnea deve ser examinada por oftalmologista
experimentado, utilizando uma lmpada de fenda. Este anel aparece em 95% dos
doentes com sintomas neurolgicos, em 50-60% dos doentes sem patologia neurol-
gica, e s em 10% de familiares assintomticos.
Doenas do Aparelho Digestivo
658
Outras manifestaes clnicas
Na doena de Wilson no so raros os achados de hipercalciria e nefrocalcinose, pos-
sivelmente em consequncia de uma deficincia tubular na reabsoro do clcio.
Podem surgir manifestaes cardacas: arritmias, cardiomiopatia, morte cardaca, e
disfuno autonmica. Cerca de 34% dos doentes evidenciam alteraes electrocar-
diogrficas.
Eventualmente detectam-se processos de condrocalcinose e osteoartrite por acumula-
o de cobre.
4 DIAGNSTICO
O diagnstico da doena de Wilson baseia-se nos achados clnicos e em dados com-
plementares, que podem ser sumariados da seguinte forma:
COMENTRIOS
A Em doentes com doena neurolgica predominante
Em doentes com sintomas neurolgicos tpicos e anel de Kaiser-Fleischer o diag-
nstico est praticamente assegurado. Os exames laboratoriais confirmam a doen-
FGADO - Doenas Metablicas e Genticas
659
DOENA DE WILSON - EXAMES DE ROTINA
Teste Achado Tpico Falso Negativo Falso Positivo
Ceruloplasmina Valor normal em casos de Valor baixo: m absoro,
srica marcada inflamao heptica insuficincia heptica,
heterozigotos
Cobre urinrio Normal: coleco incorrecta, Aumento: necrose
(24 horas) > 100g/24 h crianas sem doena heptica,contaminao
heptica
Cobre livre Normal se ceruloplasmina
no soro > 100g/dl sobreavaliada no teste
imunolgico
Cobre heptico > 250g/gr Variaes regionais: doena Sindromes de colestase
peso seco heptica activa, ndulos de
regenerao
Anel de Presente Em cerca de 40% de Cirrose biliar primria
Kaiser Fleischer doentes com forma heptica;
em familiares assintomticos
a.
A ressonncia magntica cerebral til para documentar a extenso das alteraes
no sistema nervoso central. Com o tratamento, algumas dessas alteraes rever-
tem.
B Doentes com doena heptica predominante
Nestes casos, o diagnstico mais complicado. Nenhum dos parmetros usual-
mente utilizados possibilita, por si s, um diagnostico seguro. habitualmente
necessrio solicitarem a realizao de vrios estudos complementares: parmetros
laboratoriais, bipsia heptica, RM heptica, pesquisa de mutaes.
Parmetros laboratoriais:
Ceruloplasmina srica.
Detectada por mtodos imunolgicos, encontra-se diminuda na maioria dos casos
de doena de Wilson neurolgica. Pode estar normal em cerca de 45% dos doen-
tes com formas predominantemente hepticas da doena. Por ouTro lado, a baixa
da ceruloplasmina no diagnstica na ausncia de anel de Kaiser-Fleischer.
Cobre srico.
Em geral, os valores do cobre srico acompanham os da ceruloplasmina. Por isso
os seus nveis esto usualmente baixos na doena de Wilson. Contudo, cerca de
50% dos doentes apresentam valores sricos normais, podendo mesmo acontecer
elevao da cuprmia em casos de doena de Wilson fulminante ou em situaes
de anemia hemoltica. Um aumento do cobre srico livre >10mg/dl considerado
um til teste de diagnstico da doena de Wilson.
Excreo urinria de cobre.
Est acentuadamente aumentado na doena de Wilson; contudo, a sua utilidade
na prtica clinica limitada. A estimao do cobre urinrio pode ser errnea deci-
do a coleco incorrecta da urina das 24 horas, ou por contaminao com cobre.
Nos doentes assintomticos, a excreo urinria pode ser normal. Por outro lado,
pode encontrar-se elevada em situaes de necrose heptica extensa.
Teor heptico de cobre.
Encontra-se elevado na maioria dos doentes com doena de Wilson e usualmente
excede 250 g/gr peso seco (normal: at 50 g/gr). Na ausncia de outros testes
sugestivos de anomalia do metabolismo do cobre, o diagnstico da doena no
pode fazer-se com base exclusiva no teor do cobre heptico. Por exemplo, doen-
tes com processos de colestase crnica, recm-nascidos e crianas apresentam
valores de concentrao do cobre >250 g/gr. Por outro lado, esse teor de cobre
Doenas do Aparelho Digestivo
660
pode ser normal em cerca de 10% de pacientes com doena de Wilson inquestio-
nvel, devido a diferenas regionais na distribuio do cobre heptico.
Bipsia heptica
Os achados da bipsia em microscopia ptica so usualmente inespecficos. A his-
topatologia pode incluir esteatose severa, inflamao heptica, infiltrados linfoci-
trios portais e periportais, necrose, fibrose e cirrose. A deteco de depsitos
focais de cobre mediante a colorao com rodamina uma caracterstica patogno-
mnica da doena de Wilson, mas s aparece em cerca de 10% dos casos.
Ressonncia magntica heptica
Doentes com achados anormais tm cirrose heptica ou fibrose. Pelo contrrio, se
os dados da RM so normais, as alteraes histopatolgicas so discretas.
Anlise de mutaes
O diagnstico molecular gentico directo difcil dada a ocorrncia de muitas
mutaes. Alm disso, a maioria dos doentes so heterozigotos, isto , apresen-
tam duas diferentes mutaes. Se a mutao ocorre com razovel frequncia numa
populao, o diagnstico directo da mutao rpido e clinicamente til. Na us-
tria, por exemplo, a mutao His1069Glm encontra-se presente em 61% dos pacien-
tes com doena de Wilson.
Dada a complexidade na identificao das numerosas mutaes na doena de
Wilson, podem utilizar-se hepltipos para rastrear mutaes e examinar familiares
assintomticos do doente index. Tm sido descritos vrios marcados microsatli-
tes altamente polimrficos: D13S316, D13S314, D13S301 e D13S133. No entanto, a
identificao de hapltipos no usuais pode fazer presumir mas no assegura o
diagnstico de doena de Wilson.
5 TERAPUTICA
Penicilamina
Constitui a teraputica gold standard da doena de Wilson. Actua por quelao redu-
tora: reduz a ligao do cobre s protenas e diminui assim a afinidade destas ao
cobre. Este mecanismo redutor facilita a ligao do cobre a este frmaco. O cobre
mobilizado pela penicilamina ento excretado na urina. Dentro de semanas a meses,
a penicilamina baixa os nveis e cobre para valores subtxicos e permite a reparao
dos tecidos.
A dose usual de penicilamina de 1 a 1.5 gr/dia. Uma vez logrado benefcio clnico, a
dose reduzida para 0.5 a 1 gr/dia.
FGADO - Doenas Metablicas e Genticas
661
O principal problema do frmaco a sua toxicidade. Cerca de 20% dos doentes apre-
sentam reaces secundrias srias que obrigam a alternativas teraputicas. A toxici-
dade pode ser de dois tipos: directa ou imunolgicamente induzida. A deficincia em
piridoxina e a interferncia com formao de colagnio e elastina so efeitos directos
deste frmaco. Efeitos colaterais mediados por mecanismos imunolgicos: leucopenia,
rombocitopenia, lupus eritematoso sistmico nefrite, pnfigo, miastenia gravis, neuri-
te ptica e sindrome de goodpasture. Estes efeitos exigem a suspenso imediata do
frmaco.
Trientina
um quelador do cobre, determinando o aumento da sua excreo urinria. Parece
ser to eficaz quanto a penicilamina, com muito menos efeitos secundrios. um fr-
maco promissor, ainda no totalmente testado nesta doena.
Tetratiomolibdato de amnio
A experincia com este frmaco ainda limitada. Parece ser til nas formas neurol-
gicas. particularmente eficaz na remoo do cobre do fgado.
Zinco
Interfere com a absoro intestinal do cobre. melhor tolerado do que a penicilami-
na, sendo uma possvel alternativa quando esta induz efeitos colaterais. Parece no
haver vantagem na associao destes dois frmacos.
Transplantao heptica
o tratamento de eleio em doentes com doena de Wilson fulminante ou com cir-
rose descompensada. No entanto, incerto o futuro da doena neurolgica aps a
transplantao.
Doenas do Aparelho Digestivo
662
FGADO - Doenas Metablicas e Genticas
663
REFERNCIAS
Reid AE. Non-alcoholic Steatohepatitis. Gastroenterology 2001;121:710-723.
Cortez-Pinto H, Camilo M, Baptista A, et al. Non-alcoholic fatty liver: another feature of the metabolic syndrome? Clin Nutr 1999;18:353-358.
Diehl A. Non-alcoholic steatohepatitis. Semin Liver Dis 1999;19:221-229.
Cortez-Pinto H, Baptista A, Camilo M, et al. Non-alcoholic steatohepatitis. Clinicopathological comparison with alcoholic hepatitis in
ambulatory and hospitalized patients. Dig Dis Sci 1996;41:172-179.
Brunt E, Jannery C, Di Bisceglie A et al. Non-alcoholic steatohepatitis: a proposed for grading and staging the histological lesions.
Am J Gastroenterol 1999;94:2467-74.
Sheth S, Gordon F, Chopra S. Non-alcoholic steatohepatitis. Ann Intern Med 1997;126:137-45.
Mezey E. Fathy Liver. In: Schiff E, Sorrell M, Maddrey W, Eds. Schiffs Diseases of the Liver. 8th ed. Philadelphia, PA:
Lippincott-Raven 1999:1185-1197.
Fong D, Nehra V, Lindor K et al. Metabolic and nutritional considerations in non-alcoholic fatty liver. Hepatology 2000;32:3-10.
Blendis L, Oren R, Halpern Z. NASH: can we iron out the pathogenesis? Gastroenterology 2000;118:981-985.
Day C, James O. Hepatic steatosis: innocent bystander or guilty party? Hepatology 1998;27:1463-66.
Carneiro de Moura M. Non-alcoholic steatohepatitis. GE J Port Gastroenterol 2001;8(1):63-69.
Saibara T, Onishi S, Ogawa Y et al. Non-alcoholic steatohepatitis. Lancet 1999 Oct 9;354(9186):1299-300.
Bonkovsky HL, Jawaid Q, Tortorelli K et al. Non-alcoholic steatohepatitis and iron: increased prevalence of mutations of the HFE gene in
non-alcoholic steatohepatitis. J Hepat 1999;31(3):421-9.
Brunt EM. Non-alcoholic steatohepatitis (NASH): further expansion of this clinical entity? Liver 1999;1(4):263-4.
Cortez-Pinto H, Filipe P, Camilo E et al. A preoxidao dos lpidos na esteatohepatite no alcolica: relao com a esteatose.
GE J Port Gastroenterol 1999;6:234-240.
Bacon BR. Hereditary hemochromatosis. In: Bacon BR, Di Bisceglie AM (Eds). Liver Disease. Diagnosis and management.
Churchill Livingstone 2000:140-149.
Jeffrey G, Adams PC. Hemochromatosis and Wilson disease: diagnosis and treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B (Eds).
Evidence Based Gastroenterology and Hepatology. BMJ Books 1999:333-344.
Kowdley KV, Tavill AS. Hemochromatosis. In: Friedman L, Keeffe EB (Eds) Churchill Livingstone 1998:227-238.
Berg CL, Jonas MM, Gollan JL. Treatment of genetic hemochromatosis, Wilson disease and other metabolic disorders of the liver.
In: Wolfe MM (Ed.) W.B. Saunders Co. 2000:275-288.
Bacon BR, Nichols GM. Iron metabolism and disorders of iron overload. In: Kaplowitz N (Ed.). Williams & Wilkins 192:309-321.
Assy N, Adams PC. Predictive value of family history in diagnosis of hereditary hemochromatosis. Dig Dis Sci 1997;42(6):1312-1315.
Niderau C, Fisher R, Prschel A et al. Long-term survival in patients with hereditary hemochromatosis. Gastroenterology 1996;110:1107-1119.
Lawrence SP, Caminer SJ, Yavorski RT et al. Correlation of liver density by magnetic resonance imaging and hepatic iron levels.
J Clin Gastroenterol 1996;23(2):113-117.
Moiraud R, Brissot P, Deugnier Y. Prise en charge dune famille atteinte dhmochromatose gntique.
Gastroenterol Clin Biol 1996;20:B9-B14.
Adams PC, Gregor JC, Kertesz A et al. Screening blood donors for hereditary hemochromatosis: decision analysis model based on a 30-year
database. Gastroenterology 1995;109:177-188.
Deugnier Y, Moiraud R, Guyader D et al. Surcharges en fer et gne HFE. Gastroenterol Clin Biol 1999;23:122-131.
Moiraud R, Jouanolle AM, Brissot P et al. Le dpistage de lhmochromatose gntique. Hepato-Gastro 1999;5(6):351-355.
George DK, Powell LW. Review article: the screening, diagnosis and optimal management of haemochromatosis.
Aliment Pharmacol Ther 1997;11:631-39.
Moiraud R. Hmochromatose. Gastroenterol Clin Biol 2000;24:B68-B78.
Brissot P. Fer. Gastroenterol Clin Biol 2000;24:B55-B89.
Adams PC. Population screening for haemochromatosis. Gut 2000;46:301-303.
Bacon BR. Diagnosis and management of hemochromatosis. Gastroenterology 1997;113:995-999.
EASL International Consensus Conference on haemochromatosis. J Hepatol 2000;33:485-504.
Powell LW, Subramanian VN, Yapp TR. Haemochromatosis in the new millenium. J Hepatol 2000;32 (suppl 1):48-62.
Bacon BR, Olynyk JK, Brunt EM et al. HFE genotype in patients with hemochromatosis and other liver diseases.
Ann Intern Med 1999;130:953-962.
Ministro P, Amaro P, Freitas D et al. Hemocromatose hereditria. Rev. Gastroenterol & Cir 1995;XII:115-125.
Cotrim I, Bastos I, Ferreira M, Gouveia H, Freitas D. Hemocromatose gentica. GE J Port Gastroenterol 1995;2(3):92-99.
Bento MC, Ribeiro ML, Seabra C et al. Hemocromatose frequncia das mutaes C282Y e H63D numa amostra da populao portuguesa.
GE J Port Gastroenterol 2000;7:152-155
Sousa M, Cardoso EMP. Iron and the paradox of disease. GE J Port Gastroenterol 2000;7(4):240-245.
Ferenci P. Wilsons disease. In: Bacon BR, Di Bisceglie AM (Eds). Liver Disease. Diagnosis and management.
Churchill Livingstone 2000:150-164.
Pfeil SA, Lynn DJ. Wilsons disease. J Clin Gastroenterol 1999;29(1):22-31.
Thomas GR, Forbes JR, Roberts EA et al. The Wilson disease gene: spectrum of mutations and their consequences.
Nat Genet 1995;9:210-17.
Schilsky ML, Sternlieb I. Overcoming obstacles to the diagnosis of Wilsons disease. Gastroenterology 1997;113:350-3.
Schilsky ML, Scheinberg IH, Sternlieb I. Liver transplantation for Wilsons disease: indications and outcome. Hepatology 1994;19:583-87.
Doenas do Aparelho Digestivo
FGADO - Tumores Hepticos
665
SECO IV - FGADO
CAPTULO XXXII
TUMORES HEPTICOS
1. Leses Focais Benignas
2. Tumores Malignos Primrios
3. Tumores Malignos Secundrios
665
Doenas do Aparelho Digestivo
1. LESES FOCAIS BENIGNAS DO FGADO
Incluem uma grande variedade de processos proliferativos neoplsicos e regenerati-
vos indicados na quadro seguinte:
FGADO - Tumores Hepticos
667
Hiperplasia nodular focal Tumores hamartomatosos
Adenoma Angiomiolipomas
Hemangioma cavernoso Hamartomas dos ductos biliares
Solitrio Complexo de von Meyenbur
Mltiplo Hamartoma mesenquimatoso
Hiperplasia nodular regenerativa Cistadenoma biliar
Quisto heptico solitrio Hemangioendotelioma
Pseudotumor inflamatrio
LESES FOCAIS BENIGNAS DO FGADO
Comuns Raras
HIPERPLASIA NODULAR FOCAL (HNF)
Leso benigna caracterizada por hiperplasia nodular do parnquima heptico. Em 80%
dos casos, leso nica, com dimenses mdias entre 3-5 cm.
Trs caractersticas histolgicas peculiares: cicatriz central de tecido conectivo fibroso
com clulas inflamatrias e artrias tortuosas; ausncia de arquitectura lobular nor-
mal nos ndulos, sem veias centrais e espaos porta; abundante proliferao de duc-
tos biliares nos ndulos.
a segunda mais comum leso benigna do fgado, aps o hemangioma, com uma
prevalncia de cerca de 3% na populao, grande predomnio na mulher, sobretudo
jovem (30-50 anos).
A patognese da HNF ainda no se encontre esclarecida. M formao congnita vas-
cular ? Leso proliferativa hereditria ? Os dados at agora recolhidos, no indicam a
existncia de relao causal entre a toma de contraceptivos orais e o desenvolvimen-
to ou progresso da HNF.
A maioria dos doentes so assintomticos. Achado ocasional em exames de rotina. As
provas hepticas esto usualmente normais.
O diagnstico feito por imagiologia, sendo a tomografia computorizada (TC) o
mtodo mais fidedigno. A ressonncia magntica (RM) tambm faculta diagnsticos
precisos. A ecografia convencional menos fivel. Dado que os ndulos da hiperpla-
sia focal contm clulas de Kupffer, podem captar o tecncio 99m. A cintigrafia tem
sido sugerida como mtodo til para distinguir a HNF de outras leses, particularmen-
te o adenoma. Trata-se de uma proposta no consensual. A certeza no diagnstico
essencial para a abordagem teraputica. Em muitos casos no necessria a bipsia.
O TC trifsico, em mos experientes, possibilita o diagnstico, eventualmente secun-
dado pela cintigrafia.
Quando o diagnstico de HNF seguro, o tratamento raramente est indicado. Na
maioria dos doentes as leses so completamente benignas e no progridem para
determinar sintomas. Em casos muito raros de hemorragia ou de sintomas clinicamen-
te relevantes, poder encarar-se a hiptese cirrgica.
ADENOMA HEPTICO (AH)
Trata-se de uma proliferao benigna de hepatcitos. Tumor raro, ocorrendo sobretu-
do na mulher jvem. A incidncia aumentou nos ltimos anos, provavelmente pela uti-
lizao de contraceptivos orais.
Nos factores etiolgicos incluem-se hormonas (estrognios, sobretudo na forma de
contraceptivos orais), uso de andrognios e doena heptica do glicognio.
Os doentes podem no ter queixas, sendo o tumor um achado fortuito. Noutros casos,
exibem dor e desconforto no hipocndrio direito. O adenoma pode romper, originan-
do nomeadamente um hemoperitoneu.
Trata-se de uma leso usualmente nica, mas podem existir vrias (raramente mais
de cinco). A dimenso varivel, mas tipicamente superior a 5 cm de dimetro.
A histologia heptica evidencia hepatcitos benignos organizados em cordes, sem
espaos porta nem ductos biliares. Tambm no existem clulas de Kupffer.
A presena de uma leso nodular no fgado pode ser confirmada por TC ou ecografia.
A cintigrafia com tecncio 99m evidencia um defeito lacunar no fgado, que pode ser
til na distino entre AD e HNF. O diagnstico deve ser confirmado por bipsia.
O tratamento inclui a interrupo dos estrognios. Dado que existe o risco potencial
de hemorragia ou de cancerizao, est indicada a resseco cirrgica da leso.
HEMANGIOMA
o tumor heptico benigno mais comum. tipicamente descoberto acidentalmente
durante uma avaliao de queixas abdominais inespecficas, e apresenta-se na maio-
Doenas do Aparelho Digestivo
668
ria das vezes como uma leso solitria. A prevalncia em sries de autpsia vai de
3-20%, mas no rastreio ecogrfico da populao essa taxa baixa para 1.4%. So tumo-
res raramente diagnosticados na criana ou no adolescente. A idade mdia nas sries
cirrgicas situa-se entre 30-50 anos, com preponderncia no sexo feminino.
A apresentao clnica comum o achado ocasional num exame imagiolgico hepti-
co, usualmente a ultra-sonografia abdominal. A leso geralmente assintomtica, e
tipicamente pequena (<5 cm de dimetro). O exame fsico e os testes hepticos so
normais. Cerca de 5-10% dos doentes exibem mltiplos hemangiomas hepticos, e
nalguns casos este tipo de tumor tambm detectado noutros locais: pele, pulmo
e crebro.
Nalguns casos ocorrem sintomas, sobretudo dor abdominal limitada ao quadrante
superior direito do abdmen. A expanso do tumor, a hemorragia intralesional, a trom-
bose localizada e a torso de hemangiomas pedunculados, explicariam as queixas
dolorosas. Quando originam dor, os hemangiomas usualmente tm dimenses supe-
riores a 5 cm.
A sindrome de Kasabach-Merritt consiste numa situao de coagulao intravascular
disseminada num contexto de hemangioma cavernoso gigante do fgado. H dor
abdominal e evidncia de hemorragia. A sindrome responde bem teraputica cirr-
gica de resseco, ou, quanto esta invivel, transplantao heptica.
A mais temida apresentao do hemangioma cavernoso, a sua rotura espontnea
ou traumtica para o abdmen, situao que exige cirurgia de emergncia ou angio-
grafia com embolizao da artria que irriga a leso. Outras apresentaes atpicas e
raras: hemobilia, pseudotumor inflamatrio, trombose da cava com embolia pulmonar,
hipertenso portal e degenerescncia qustica.
Vrias sries que estudaram a histria natural destes tumores evidenciaram que na
maioria so tipicamente silenciosos, clinicamente benignos, e raramente aumentam de
dimenses at se volverem sintomticos.
O diagnstico de hemangioma cavernoso depende da demonstrao de caractersti-
cas especficas em exames imagiolgicos do fgado. A sensibilidade da ultra-sonogra-
fia varia entre 60-70%, e a especificidade entre 60-80%. A sensibilidade da TC din-
mica situa-se entre 75-85%, e a especificidade entre 75-90%. A RM evidencia a maior
acuidade no diagnstico do hemangioma, com uma sensibilidade de 85-95%, e uma
especificidade de 85-95%. Se os estudos imagiolgicos so inconclusivos, pode esta-
belecer-se o diagnstico utilizando aspirao com agulha fina.
FGADO - Tumores Hepticos
669
Nas leses assintomticas com menos de 5 cm de dimetro, no est indicado reali-
zar tratamento. Embora alguns autores recomendem uma vigilncia ecogrfica anual,
esse follow-up poder no ser necessrio, de acordo com dados recentes.
Hemangiomas assintomticos de dimenso > 10 cm, requerem monitorizao aperta-
da. Alguns autores preconizam cirurgia electiva, sobretudo em jvens, para evitar o
risco de complicaes. Leses que evoluem nas suas dimenses, ou se volvem sinto-
mticas, ou ainda as que no exame inicial medem mais de 15 cm, devem ser subme-
tidas a sano cirrgica (enucleao, resseco ou transplantao). Em casos seleccio-
nados, poder tentar-se a embolizao angiogrfica.
HIPERPLASIA NODULAR REGENERATIVA (HNR)
um processo proliferativo benigno em que a arquitectura normal heptica inteira-
mente substituida por ndulos hepatocitrios regenerativos difusos. Trata-se de uma
situao relativamente comum, referindo-se taxas de 2.1% e 2.6% em duas sries de
autpsias. No h predomnio de um sexo sobre outro.
A HNR associa-se a mltiplas condies que podem contribuir para a sua formao:
Doenas do Aparelho Digestivo
670
Afeces linfoproliferativas Sindrome de Budd-Chiari
Mastocitose Artrite reumatide
Transplantao da medula Idade > 80 anos
Hepatectomia parcial Transplantao heptica
Cirrose biliar primria Sindrome de Felty
Esterides anabolizantes Hepatocarcinoma
Transplantao renal Teraputica com azatioprina
Quimioterpia Poliartrite nodosa
Amiloidose
Doenas vasculares do colagnio
A apresentao clnica dos doentes com HNR varivel. Em muitos doentes, predo-
minam as situaes reumatolgicas ou linfoproliferativas associadas, e a HNR um
achado acidental. Os testes da funo heptica esto normais ou levemente elevados.
Os achados fsicos mais comuns so a hepatomeglia e a esplenomeglia. Alguns
doentes podem desenvolver quadros de hipertenso portal, com hemorragia por vari-
zes e ascite. Raramente os doentes desenvolvem insuficincia heptica, que poder
conduzir a transplante heptico.
O diagnstico de HNR pode ser difcil, devendo ser suspeitado em doentes com hiper-
tenso portal e provas da funo heptica relativamente preservadas. O diagnstico
confirmado pela observao macroscpica ou microscpica do parnquima hepti-
co. A aparncia do fgado, observado designadamente em laparoscopia, similar ao
da cirrose micronodular. No entanto, histologicamente h diferenas importantes, uma
das quais a ausncia de septos ou bandas fibrosas entre os ndulos. Por vezes a
bipsia heptica no consegue facultar o diagnstico histolgico, sendo necessrio
obter um retalho maior. Quando h sintomas de hipertenso portal e a bipsia hep-
tica normal ou no evidencia cirrose, deve suspeitar-se da hiptese de HNR.
A patognese ainda no est esclarecida. Obliterao ou trombose do sistema veno-
so portal que resulta em atrofia das reas centrais (zona III), mais vulnerveis
isqumia, atrofia compensada pela proliferao de hepatcitos da zona porta ?
Distrbio proliferativo generalizado do fgado, sendo a HNR, nessa perspectiva, uma
leso pr-neoplsica?
O tratamento do doente com HNR depende da apresentao clnica. A maioria dos
doentes no tm sintomas atribuveis a esta entidade, mas a condies associadas.
O problema maior o tratamento das complicaes da hipertenso portal quando
esta ocorre.
QUISTO HEPTICO SOLITRIO
So leses relativamente comuns, usualmente assintomticas, na maior parte dos
casos descobertas fortuitamente durante uma avaliao clnica de rotina.
Computa-se a prevalncia mdia na populao em 3.6%, que aumenta com a idade.
O dimetro dos quistos varia usualmente entre 1-3 cm, s 7% atingem mais de 5 cm.
Os quistos ocorrem mais frequentemente no lobo direito, e so mais prevalentes na
mulher.
Normalmente no originam queixas a no ser quando atingem dimenses superiores
a 5 cm.
Os quistos solitrios hepticos assintomticos no requerem tratamento. Quando ori-
ginam sintomas, a teraputica preferida a aspirao percutnea do quisto, orienta-
da por ecografia ou TC, seguida de escleroterpia com lcool ou doxiciclina. Esta
medida eficaz em mais de 90% dos casos. A recorrncia situa-se entre 5-15%.
FGADO - Tumores Hepticos
671
LESES FOCAIS RARAS
Leses Hamartomatosas
Angiomiolipomas.
Extremamente raros. Assintomticos. Diagnstico obtido por bipsia. Alguns casos
sintomticos exigem cirurgia.
Hamartomas dos ductos biliares.
Leso focal benigna, inicialmente chamada de adenoma dos ductos biliares. Leso
pequena (< 1cm), assintomtica, usualmente localizada no superficie do fgado. O
estudo histolgico estabelece o diagnstico. No est indicada resseo cirrgica.
Cistadenoma biliar.
Surge tipicamente na mulher de meia idade, com desconforto no hipocndrio direi-
to. A imagiologia revela uma massa focal, que pode atingir 25 cm de dimetro, com
parede espessada, componentes qusticos e septaes. Em cerca de 25% dos
casos pode ocorrer malignizao. Na maioria dos casos est indicada resseco
cirrgica.
HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELIIDE
um tumor maligno raro que discutido nesta seco porque nas fases iniciais
frequentemente confundido com leses benignas focais.
No adulto, este tumor apresenta sintomas de dor abdominal, hepatomeglia, febre e
testes de funo heptica normais. Na imagiologia, o tumor pode aparecer solitrio,
ou em massas mltiplas.
O desenvolvimento deste tumor est associado ao uso de contraceptivos orais e
exposio a qumicos. No entanto, na maior dos casos no se identifica um factor de
risco. A RM dinmica o melhor mtodo imagiolgico de diagnstico, confirmado por
bipsia ou resseco da massa. Nos ltimos anos, a transplantao heptica tem sido
a opo teraputica mais defendida.
Doenas do Aparelho Digestivo
672
2. TUMORES MALIGNOS PRIMRIOS
CARCINOMA HEPATO-CELULAR
1 - EPIDEMIOLOGIA
O carcinoma hepato-celular (CHC) o oitavo cancro mais frequente no mundo, sendo
a causa directa de morte em cerca de 1 milho de pessoas anualmente.
H grandes variaes geogrficas na sua incidncia. Em frica, ao sul do Saar e na
sia oriental, a incidncia computada em 150/100.000 habitantes, compreendendo
o CHC cerca de 50% de todos os tumores. Na Europa so diagnosticados anualmen-
te cerca de 30.000 casos. Nos Estados Unidos, a incidncia de 1-4/100.000 habitan-
tes.
Sendo o sexto tumor maligno mais comum no homem, e o dcimo primeiro na mulher,
o CHC tem uma preponderncia no sexo masculino, chegando a atingir, na rea do
baixo Reno, em Frana, a proporo de 6.4:1. Nos Estados Unidos a relao de 2:1.
A incidncia de CHC aumenta com a idade. A idade mdia de diagnstico de 53 anos
na sia, e de 62 anos nos Estados Unidos da Amrica.
2 FACTORES DE RISCO
Apontam-se como factores de risco reconhecido ou possvel, os seguintes:
Factores de risco reconhecido
Cirrose heptica de qualquer etiologia
Hepatite crnica B
Hepatite crnica C
Distrbios metablicos:
Hemocromatose
Deficincia em 1-antitripsina
Tirosinmia hereditria
Carcinognios:
Aflotoxinas
Torotraste
Factores de risco possivel
lcool (na ausncia de cirrose)
Tabaco
FGADO - Tumores Hepticos
673
Estrognios ou anabolizantes
COMENTRIOS
A hepatite crnica B o factor etiolgico mais comum em reas de grande incidncia
da infeco, enquanto que a hepatite crnica C joga o papel mais importante em
zonas da incidncia intermdia.
Desconhece-se o mecanismo que determina a progresso da hepatite viral crnica
para a cancerizao, postulando-se que a presena de cirrose um factor decisivo.
Alm disso, o VHB um virus ADN cujo genoma pode ficar integrado no genoma dos
hepatcitos, interferindo desse modo com a aco de oncogenes ou de genes supres-
sores tumorais. O virus da hepatite C um virus ARN, que no se integra no geno-
ma. Quase todos os casos de CHC relacionados com o virus C esto associados a cir-
rose. O lcool pode ser um importante co-factor do virus C no desenvolvimento do
CHC.
Certas doenas metablicas podem associar-se ao desenvolvimento do CHC, mas vir-
tualmente todas em presena de cirrose (por ex. hemocromatose, deficincia em 1-
antitripsina).
Em certas zonas do globo, as toxinas do ambiente desempenham um importante
papel na patognese do CHC. As aflotoxinas so substncias que resultam da conta-
minao por fungos de alimentos armazenados. No homem, interagem com o VHB na
induo do CHC.
A cirrose o mais importante factor de risco do CHC, estando presente em cerca de
80% destes tumores. A incidncia anual do CHC em cirrticos situa-se entre 3-5%. A
autpsia de doentes com cirrose revelou uma prevalncia de CHC entre 20 e 80%.
Enquanto que na sia e em frica a causa da cirrose de base deve relacionar-se com
a exposio aos vrus B ou C, na Europa e nos Estados Unidos a cirrose associa-se
mais comummente ao lcool. No sendo um carcinognio, o lcool joga um papel
indirecto na hepatocarcinognese. O risco de desenvolvimento do CHC em indivduos
com cirrose alcolica, situa-se entre 3-15%. O CHC observado em 60-80% dos doen-
tes com cirrose macronodular, e em 3-10% dos que padecem de cirrose micronodular.
3 ANATOMIA PATOLGICA
A Organizao Mundial de Sade perfilha a seguinte classificao histolgica do CHC:
a) Trabecular (sinusoidal): as clulas tumorais dispem-se em cordes celulares
separados por sinusides. A fibrose no existe ou mnima.
b) Pseudoglandular (acinar): as clulas tumorais formam estruturas glandulares,
sendo comuns os canalculos com ou sem blis.
Doenas do Aparelho Digestivo
674
c) Compacto: as clulas malignas formam uma massa slida, no se enxergando
sinusides.
d) Cirrose: estroma fibroso significativo separa cordes de clulas tumorais.
4 - CLNICA
A idade mdia de apresentao do CHC situa-se entre os 40 e 50 anos. A doena afec-
ta mais o homem.
40% dos doentes so assintomticos na altura do diagnstico. A dor o sintoma mais
frequente (91%), aparecendo em fases avanadas, e quando a cpsula de Glisson
afectada. A dor localiza-se normalmente na quadrante superior direito do abdmen.
A maioria dos doentes apresentam cirrose heptica como doena de base, pelo que
evidenciam sinais e sintomas de insuficincia heptica. Dentre os sintomas destacam-
se a anorexia, o emagrecimento, o mal-estar e a ictercia. Os sinais fsicos incluem
hepatomeglia (90%), ascite (52%), esplenomeglia (65%), ictercia (40%), febre
(38%).
Nalguns doentes, a metastizao do tumor a primeira manifestao da enfermidade
(ossos, pulmes, supra-renais).
Outros achados incluem: diarreia, eritrocitose, hipercalcmia, precocidade sexual e
produo de gonadotrofinas. A criofibrinogenmia, a disfibrinogenmia, a polimiosite
e o sndrome carcinide so achados infrequentes.
5 MTODOS DE DETECO DO CHC
MARCADORES TUMORAIS
Alfa-fetoproteina.
Est aumentada em cerca de 60-70% dos doentes com CHC. Os valores normais
deste marcador no soro vo de 0 a 20 ng/ml, e nveis acima de 400 ng/ml so
diagnsticos de CHC. Falsos positivos: hepatite aguda ou crnica, tumores de clu-
las germinais e gravidez. Com base em estudos de sensibilidade e especificidade,
geralmente aceite que nos doentes com cirrose heptica que apresentam valo-
res deste marcador superiores a 20 ng/ml, aconselhvel realizar exames ecogr-
ficos cada trs meses.
Um segundo marcador bastante utilizado, o estudo da proteina PIVKA-2, uma
protrombina anmala induzida pela ausncia de vit.K, que no interage com outros
factores de coagulao. Esta proteina est aumentada em cerca de 90% dos doen-
FGADO - Tumores Hepticos
675
tes com CHC. Tal como sucede com a a-fetoprotena, a sua sensibilidade baixa
nos carcinomas com dimenso inferior a 3 cm (20-50%), e tambm apresenta fal-
sos positivos: deficincia em vit.K, hepatite crnica activa e metstases hepticas.
ULTRA-SONOGRAFIA (US)
frequentemente utilizada no diagnstico do CHC, designadamente em programas de
vigilncia de doentes com doena heptica crnica em risco de desenvolverem o
tumor. Revelou apresentar maior sensibilidade do que a -fetoproteina sobretudo em
doentes de alto risco com pequenos tumores. A sensibilidade deste exame para o CHC
situa-se entre 70-80%. til na distino entre pequenos tumores e metstases hep-
ticas. A US angiogrfica ou acoplada a Doppler tem evidenciado indiscutvel utilidade
no diagnstico do CHC.
TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA (TC)
A TC helicoidal bi-fsica possibilita o estudo das fases venosa e arterial da circulao
heptica. Dado que o CHC um tumor muito vascularizado, que recebe fluxo sangu-
neo sobretudo atravs da artria heptica, pode ser detectado com relativa facilida-
de pela TC. Tambm til na distino entre ndulo displsico (irrigado sobretudo
pelo fluxo venoso) e o CHC. Nas leses tumorais pequenas, a sensibilidade baixa.
RESSONNCIA MAGNTICA (RM)
Mtodo importante na deteco do CHC, distinguindo este tumor de ndulos displ-
sicos regenerativos. Estudos suplementares com a injeco de gadolneum ou outros
agentes de contraste (em fase experimental) permitiro melhorar a acuidade deste
exame.
ANGIOGRAFIA
Detecta leses hipervasculares com menos de 3 cm, em percentagens de cerca de
90%. til, em conjugao com a TC, no estudo pr-operatrio dos doentes.
6 TRATAMENTO
Como se referiu, o CHC acompanha-se frequentemente de cirrose, de tal forma que as
opes teraputicas e o prognstico esto intimamente ligados severidade da cir-
rose heptica. Atendendo a esta circunstncia, til proceder ao estadiamento do
tumor utilizando critrios que englobem as suas dimenses e o grau de severidade
da cirrose. Um desses sistemas, bastante adoptado, proposto por Okuda e referido
no quadro seguinte:
Doenas do Aparelho Digestivo
676
A CIRURGIA
RESSECO.
O resultado da cirurgia de resseco depende essencialmente da situao clnica do
doente, avaliada designadamente da situao clnica do doente, avaliada designada-
mente pelos critrios de Okuda, pelo grau de Child ou pela classificao TNM. Deve
tentar-se a exciso cirrgica em leses no estdio I de Okuda, mormente em tumores
unifocais < 5 cm, preferentemente encapsulados, sem evidncia de invaso da veia
porta, das veias hepticas, da serosa ou da cpsula de Glisson. Dado que a aborda-
gem cirrgica no elimina micrometstases, a recorrncia frequente.
TRANSPLANTAO.
uma opo atractiva para doentes com CHC e cirrose heptica. Alguns centros repor-
tam sobrevida at 80% aos 3 anos , ao passo que outros registam taxas de apenas
20% aos 5 anos. A recorrncia frequente, quer no enxerto, quer noutras zonas do
organismo, e exacerbada pela imunosupresso ps-transplante. Os tumores com
dimenses < 3 cm evidenciam melhor prognstico.
B TERAPUTICA LOCAL
Quimioterpia Heptica Intra-arterial.
Dado que o CHC irrigado sobretudo pela artria heptica, a infuso arterial hepti-
ca selectiva permite a administrao directa de agentes de quimioterpia no tumor,
optimizando deste modo a dose do frmaco e minimizando efeitos adversos. S tem
interesse em tumores confinados glndula heptica. Pode induzir complicaes.
Agentes utilizados, isoladamente ou em associao: 5-fluorouracilo , floxuridina, doxo-
rubicina, mitoxantrona, epirubicina e cisplatina.
FGADO - Tumores Hepticos
677
SISTEMA DE ESTADIAMENTO DE OKUDA
Critrio Positivo Negativo
Dimenso do tumor * > 50% < 50%
Ascite Detectvel Ausente
Albumina < 3 gr/dl > 3 gr/dl
Bilirrubina > 3 mgr/dl < 3 mgr/dl
Estdio Critrio
I Sem parmetros positivos
II 1 ou 2 parmetros positivos
III 3 ou 4 parmetros positivos
* Relao mais elevada entre a rea seccionada do tumor e a rea seccionada do fgado.
Quimioembolizao
A desvascularizao do tumor oferece a vantagem potencial de interromper a alimen-
tao e a oxigenao do tumor. Agentes utilizados na embolizao ou vasoconstrio
da artria heptica: gelatina, lipiodol e angiotensina II. Reportam-se respostas posi-
tivas at 50% e taxas de sobrevida aos 2 anos at 25%. Alguns trabalhos no docu-
mentam qualquer benefcio, em termos de sobrevida mdia. um mtodo com con-
tra-indicaes: hipertenso portal, ocluso da veia porta, fluxo hepatfugo, cirrose
descompensada.
Injeco Percutnea de Etanol
A injeco intratumoral de etanol induz desidratao, coagulao intracelular, necro-
se, ocluso vascular e fibrose. Numa srie alargada do Japo, regista-se uma sobrevi-
da de 53% aos 3 anos, em doentes com tumores pequenos (< 5cm de dimetro), resul-
tados no inferiores aos da resseco cirrgica e melhores do que os indicados para
a quimioembolizao. Este mtodo pode beneficiar doentes com tumores pequenos
enxertados em quadros de cirrose, que limita a ressecabilidade. No tem interesse em
leses multifocais, e no elimina micrometstases.
A via percutnea tem sido utilizada para a destruio focal de pequenos tumores uti-
lizando outros agentes: criocirurgia, termoterpia, ultra-sons, radiofrequncia, Laser,
etc. So tcnicas promissoras, em fase de ensaio.
Radioterpia
A radioterpia convencional tem pouco interesse, excepto como tratamento paliativo
em leses dolorosas. Recentemente tem sido utilizado um novo mtodo teraputi-
ca com protes -, com o qual se conseguem redues de 50% nas dimenses do
tumor, sem efeitos secundrios e com boa qualidade de vida. Tambm recentemente
se iniciaram estudos com a administrao intra-arterial de Yttrium-90, aguardando-se
os resultados.
C QUIMIOTERPIA SISTMICA
A maior desvantagem das modalidades de teraputica cirrgica e de tratamento local,
a ausncia de efeito nas leses multifocais e extra-hepticas, e nas micrometsta-
ses. As teraputicas sistmicas visam ultrapassar essas limitaes.
Doenas do Aparelho Digestivo
678
Quimioterpia convencional.
A utilizao isolada do 5-fluorouracilo (5-Fu), foi abandonada por ser ineficaz.
Actualmente utiliza-se a associao deste frmaco com outros agentes: leucovorin, a-
interfero, doxorubicina, amsacrina, epirubicina, etoposido, cisplatina , mitoxantro-
na, isofosfamida, e outros. De todos os agentes convencionais, a doxorubicina pare-
ce ser o mais activo frmaco, com uma taxa de resposta de 25%. Uma teraputica
combinada recente, associando a cisplatina, o interfero alfa-2b, a doxorubicina e o
5-Fu, forneceu respostas consideradas impressivas. Esta combinao mal tolerada
na cirrose avanada dado que a cisplatina exige expanso do volume intravascular
para evitar toxicidade renal. Por outro lado, a doxorubicina no pode ser ministrada
a doentes com hiperbilirrubinmia.
Quimioterpia combinada com interfero.
A combinao de cisplatina em infuso intra-arterial e de interfero-a, forneceu resul-
tados promissores. Tambm foram encorajadores os resultados dos ensaios que utili-
zaram a infuso i.v. contnua de 5-Fu durante cindo dias, associada a interfero a-2b,
por via subcutnea, em ciclos intervalados de 14 dias, em doentes com valores bai-
xos de a-fetoproteina e com tumores ocupando 50% ou menos da rea heptica. Esta
associao parece tambm ser benfica nos tumores fibrolamelares.
Fluropirimidinas orais.
Dentre estes agentes, a capecitabina oral tem sido utilizada com resultados enoraja-
dores, justificando a continuao de ensaios teraputicos. Tambm a combinao de
uma outra pr-droga do 5-FU - tegafur -, associada ao uracilo, revelou propriedades
teraputicas promisoras.
Agentes antiangiognicos.
O CHC caracterizado por um aumento patolgico da angiognese. Por isso, a tera-
putica antiangiognica tem suscitado considervel interesse, visando o bloqueio da
neovascularizao tumoral. Um dos inibidores da angiognese mais ensaiados no ani-
mal de laboratrio, com bons resultados, o TNP-470, aguardando-se os resultados
de ensaios em doentes.
A talidomida, que possui propriedades antiangiognicas e imunomoduladoras, est
actualmente a ser avaliada em tumores slidos, nomeadamente no CHC. Num estudo
recentemente publicado, reporta-se uma taxa de 45% de estabilizao do processo
tumoral, e aumento da sobrevida. A associao destes agentes antiangiognese com
quimioterpia, radioterpia, imunoterpia ou cirurgia, merece ser estudada.
Tamoxifeno.
Dado que existem receptores dos estrognios em cerca de 33% dos CHC, estudou-se
o efeito deste frmaco no tratamento destes tumores. Os resultados so pouco anima-
dores. Presentemente estuda-se o valor teraputico deste agente em associao com
outras modalidades de tratamento.
FGADO - Tumores Hepticos
679
Octretido.
Trata-se de um anlogo da somatostatina que evidencia actividade antimittica nos
tumores neuroendcrinos. Uma vez que em 41% dos CHC existem receptores da
somastostatina, com elevada afinidade para o octretido, estudou-se o efeito terapu-
tico deste frmaco em doentes com CHC (250 g, 2x/dia), apurando-se que evidencia
uma aco benfica no tocante sobrevida mdia. Trata-se de um produto que justi-
fica novos ensaios teraputicos, designadamente em doentes com CHC e cirrose avan-
ada.
OUTROS TUMORES MALIGNOS
COLANGIOCARCINOMA.
Ver Tumores da vesicula e vias biliares.
HEMANGIOENDOTELIOMA.
Ver Leses focais benignas do fgado.
LINFOMA PRIMRIO.
Podem ocorrer nomeadamente no contexto da infeco HIV. Respondem mal quimio-
terpia. Mau prognstico.
ANGIOSARCOMA.
Factores predisponentes: exposio ao cloreto de vinil e ao torotraste. Cresce rapida-
mente, responde mal quimioterpia e tem mau prognstico.
3 - TUMORES MALIGNOS SECUNDRIOS
O fgado um local frequente de metstases, que representam, de longe, a forma mais
comum de malignizao deste rgo. Os mais frequentes locais de origem de metsta-
ses hepticas so: pulmo, mama, tracto gastro-intestinal e tracto gnito-urinrio.
Na autpsia, observam-se metstases hepticas em cerca de 40% dos doentes adul-
tos com tumores malignos primrios extra-hepticos. Calcula-se que at 75% dos
tumores primitivos drenados pelo sistema venoso portal (pncreas, intestino grosso e
estmago), invadem o fgado antes da morte. Cerca de 50% dos doentes que eviden-
ciam metstases hepticas sintomticas, sobrevivem em mdia trs meses, e menos
de 10% conseguem sobreviver mais de um ano.
Doenas do Aparelho Digestivo
680
Nas metstases do carcinoma colorectal, a resseco cirrgica est indicada se esto
confinadas a um nico lobo heptico. As chances de sobrevida aos 2 anos atingem 25%.
A quimioterpia bastante utilizada nas metstases do cancro colorectal. A combina-
o do 5-FU com o cido folnico (leucovorin), superior ao 5-FU isolado, sendo pre-
sentemente o regime teraputico mais utilizado nestes tumores secundrios.
Constitui actualmente uma prtica de rotina, a teraputica adjuvante ps-operatria,
em doentes com cancro colorectal nos estdios B2 ou C. A associao mais utilizada
integra o 5-FU e o leucovorin.
As metstases provenientes do estmago, pncreas ou ductos biliares foram tratadas,
durante anos, com o regime FAM (5-FU, adriamicina e mitomicina C). Dados recentes evi-
denciam que esta associao no superior administrao isolada desses frmacos.
FGADO - Tumores Hepticos
681
Doenas do Aparelho Digestivo
682
REFERNCIAS
Molina EG, Schiff ER Benign solid lesions of the liver. In: Schiff ER Sorrell MF, Maddrey WC (eds). Schiffs Diseases of the Liver.
Lippincott Raven ( 8th Ed.) 1999: 1245-1268.
Wong F, Wanless IR, Blendis LM. Nodular diseases of the liver. In: Schiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC (Eds). Schiffs Diseases of th Liver.
Lippincott Raven 1999: 1269-1280.
Di Bisceglie AM. Malignant neoplasms of the liver. In: Schiff ER, Sorrll MF, Maddrey WC (Eds). Schiffs Diseases of the Liver. Lippincott-Raven,
1999: 1281-1304.
Langnas AN, Shaw BW. Surgical therapy for hepatocellular carcinoma. In: Schiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC (Eds). Schiffs Diseases of the Liver.
Lippincott-Raven 1999: 1305-1318.
Choti MA, Bulkley GB. Management of Metastatic Disease. In: Schiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC (Eds). Schiffs Diseases of the Liver. Lippincott-
Raven 1999: 1319-1336.
Di Bisceglie AM, Richart JM. Management of tumors of the liver. In: Wolfe MM (Ed). Therapy of Digestive Disorders. W.B. Saunders Co. 2000: 421-428.
Colombo M. Hepatocellular carcinoma: screening and treatment. In: MC Donald J, Burroughs A, Feagan B (Eds). Evidence Based
Gastroenterology and Hepatology. BMJ Books 1999: 456-467.
Johnson PJ. Benign and malignant tumors of the liver. In: Bacon BR, Di Bisceglie AM (Eds). Churchill Livingstone 2000: 310-320.
Keeffe. EB. Liver transplantation: current status and novel approaches to liver replacement. Gastroenterology 2001; 120 (39) 749-762.
Velosa J, Marinho R, Gouveia A et al. Factores de risco para o carcinoma hepatocelular em doentes com cirrose heptica. GE J Port.
Gastroenterol 1994 ; 1 (1): 1-10.
Oliveira J. Ferreira P., S A et al. Carcinoma hepatocelular. Rev. Gastrenterol & Cir 2001; XVII: 112-122.
Pontes J, Portela F, Leito M et al. Teraputica do carcinoma hepatocelular por injeco percutnea de etanol. Rev. Gastrenterol & Cir 1996; 13: 133-142.
Bernard PH, Le Bail B, Lecesne R et al. Les lsions prcancereuses du foie cirrhotique: vers une meilleure dfinition et de nouvelles stratgies
pratiques. Hepato-gastro 1997; 4(3): 209-16.
Rosmordue O, Paterlini P, Poupon E et al. Virus des heptites et carcinoma hpatocellulaire. Gastroenterol Clin Biol 1999 ; 23. 363-375.
Scoazec J-Y. Dysplasie hpatocytaire: lsion pr ou pri-cancreuse? Gastroenterol Clin Biol 1999 ; 23 : 433-437.
Hui A-M, Makunchi M. Molecular basis of multistep hepatocarcinogenesis: genetic and epigenic events. Scand J Gastroenterol 1999; 8: 737-742.
Collier J, Sherman M. Screening for hepatocellular carcinoma. Hepatology 1998; 27 (1): 273-278.
Lau WY. Local ablative therapy for hepatocellular carcinoma. Endoscopy 2000; 32 (8): 644-646.
Pitot HC. Pathways of progression in hepatocarcinogenesis. Lancet. 2001 Sep 15;358(9285):859-60.
Valla DC, Degos F. Chemoprevention of hepatocellular carcinoma in hepatitis C virus-related cirrhosis: first, eliminate the virus.
J Hepatol. 2001 Apr;34(4):606-9.
Aguayo A, Patt YZ. Liver cancer. Clin Liver Dis. 2001 May;5(2):479-507.
Bartolozzi C, Crocetti L, Cioni D, Donati FM, Lencioni R. Assessment of therapeutic effect of liver tumor ablation procedures.
Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):352-8.
Poston G. The argument for liver resection in colorectal liver metastases. Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):345-6.
Rees M, John TG. Current status of surgery in colorectal metastases to the liver. Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):341-4.
Usatoff V, Habib NA. Update of laser-induced thermotherapy for liver tumors. Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):330-2.
Neeleman N, Wobbes T, Jager GJ, Ruers TJ. Cryosurgery as treatment modality for colorectal liver metastases. Hepatogastroenterology. 2001
Mar-Apr;48(38):325-9.
Mathur P, Allen-Mersh TG. Hepatic arterial chemotherapy for colorectal liver metastases. Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):317-9.
Fiorentini G, Poddie DB, Cantore M, et al. Locoregional therapy for liver metastases from colorectal cancer:
the possibilities of intraarterial chemotherapy, and new hepatic-directed modalities. Hepatogastroenterology. 2001 Mar-Apr;48(38):305-12.
Livraghi T. Guidelines for treatment of liver cancer. Eur J Ultrasound. 2001 Jun;13(2):167-76.
Livraghi T, Lazzaroni S, Meloni F. Radiofrequency thermal ablation of hepatocellular carcinoma. Eur J Ultrasound. 2001 Jun;13(2):159-66.
Goldberg SN. Radiofrequency tumor ablation: principles and techniques. Eur J Ultrasound. 2001 Jun;13(2):129-47.
Cioni D, Lencioni R, Bartolozzi C. Percutaneous ablation of liver malignancies: imaging evaluation of treatment response. Eur J Ultrasound. 2001
Jun;13(2):73-93.
Tabor E. Hepatocellular carcinoma: global epidemiology. Dig Liver Dis. 2001 Mar;33(2):115-7.
Kato T, Reddy KR. Radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma: help or hazard? Hepatology. 2001 May;33(5):1336-7.
Koike K. Role of hepatitis viruses in multistep hepatocarcinogenesis. Dig Liver Dis. 2001 Jan-Feb;33(1):2-6.
Poynard T, Moussalli J, Ratziu V, Regimbeau C, Opolon P. Effect of interferon therapy on the natural history of hepatitis C virus-related
cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Clin Liver Dis. 1999 Nov;3(4):869-81.
Kouroumalis EA. Octreotide for cancer of the liver and biliary tree. Chemotherapy. 2001;47 Suppl 2:150-61.
Lencioni R, Cioni D, Donati F, Bartolozzi C. Combination of interventional therapies in hepatocellular carcinoma. Hepatogastroenterology. 2001
Jan-Feb;48(37):8-14.
Franco D, Usatoff V. Resection of hepatocellular carcinoma. Hepatogastroenterology. 2001 Jan-Feb;48(37):33-6.
Kew MC. Hepatocellular cancer. A century of progress. Clin Liver Dis. 2000 Feb;4(1):257-68.
el-Serag HB. Epidemiology of hepatocellular carcinoma. Clin Liver Dis. 2001 Feb;5(1):87-107.
Macdonald GA. Pathogenesis of hepatocellular carcinoma. Clin Liver Dis. 2001 Feb;5(1):69-85.
Mani H, Van Thiel DH. Mesenchymal tumors of the liver. Clin Liver Dis. 2001 Feb;5(1):219-57.
Aguayo A, Patt YZ. Nonsurgical treatment of hepatocellular carcinoma. Clin Liver Dis. 2001 Feb;5(1):175-89.
Trotter JF, Everson GT. Benign focal lesions of the liver. Clin Liver Dis. 2001 Feb;5(1):17-42.
Rust C, Gores GJ. Locoregional management of hepatocellular carcinoma. Surgical and ablation therapies. Clin Liver Dis. 2001 Feb;5(1):161-73.
Johnson PJ. The role of serum alpha-fetoprotein estimation in the diagnosis and management of hepatocellular carcinoma. Clin Liver Dis.
2001 Feb;5(1):145-59.
Peterson MS, Baron RL. Radiologic diagnosis of hepatocellular carcinoma. Clin Liver Dis. 2001 Feb;5(1):123-44.
Colombo M. Screening for cancer in viral hepatitis. Clin Liver Dis. 2001 Feb;5(1):109-22.
Wall WJ. Liver transplantation for hepatic and biliary malignancy. Semin Liver Dis. 2000;20(4):425-36.
Llovet JM, Bruix J. Early diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2000 Dec;14(6):991-1008.
Hann LE, Winston CB, Brown KT, Akhurst T. Diagnostic imaging approaches and relationship to hepatobiliary cancer staging and therapy. Semin
Surg Oncol. 2000 Sep-Oct;19(2):94-115.
Lau WY. Primary liver tumors. Semin Surg Oncol. 2000 Sep-Oct;19(2):135-44.
Koea JB, Kemeny N. Hepatic artery infusion chemotherapy for metastatic colorectal carcinoma. Semin Surg Oncol. 2000 Sep-Oct;19(2):125-34.
Johnson PJ. Systemic chemotherapy of liver tumors. Semin Surg Oncol. 2000 Sep-Oct;19(2):116-24.
Tang ZY. Hepatocellular carcinoma. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Oct;15 Suppl:G1-7.
Adamsen S. Laparoscopy, minimally invasive surgery, and percutaneous treatment of hepatic tumors. Endoscopy. 2000 Nov;32(11):884-9.
Llovet JM, Sala M, Bruix J. Nonsurgical treatment of hepatocellular carcinoma. Liver Transpl. 2000 Nov;6(6 Suppl 2):S11-5.
Grasso A, Watkinson AF, Tibballs JM, Burroughs AK. Radiofrequency ablation in the treatment of hepatocellular carcinomaa clinical viewpoint.
J Hepatol. 2000 Oct;33(4):667-72.
Ahlman H, Wangberg B, Jansson S, Friman S, Olausson M, Tylen U, Nilsson O. Interventional treatment of gastrointestinal neuroendocrine
tumours Digestion. 2000;62 Suppl 1:59-68.
Kountouras J, Lygidakis NJ. New epidemiological data on liver oncogenesis. Hepatogastroenterology. 2000 May-Jun;47(33):855-61.
SECO V
VESCULA E VIAS BILIARES
Doenas do Aparelho Digestivo
VESCULA E VIAS BILIARES - Litase Biliar
685
SECO V - VESCULA E VIAS BILIARES
CAPTULO XXXIII
LITASE BILIAR
1. Epidemiologia
2. Morfologia e Composio
3. Factores de Risco
4. Patognese
5. Histria Natural
6. Clnica
7. Tratamento
8. Complicaes da Colelitase
685
Doenas do Aparelho Digestivo
1. EPIDEMIOLOGIA
A litase a doena mais comum das vias biliares. Estudos epidemiolgicos com base
em rastreios ecogrficos ou em dados de necrpsia, evidenciam que pelo menos 10%
da populao tem clculos biliares.
Em geral, a litase duas a trs vezes mais comum na mulher do que no homem. A
maioria das sries aponta taxas de prevalncia na mulher entre 5-20% at aos 50
anos, e de 25-30% aps este limite etrio.
H grupos tnicos e zonas do globo onde a prevalncia da litase mais elevada. Os
ndios Pima, no Arizona, constituem um sub-grupo populacional com taxas de preva-
lncia de 70% na mulher com mais de 25 anos. Outro grupo de elevada prevalncia
de litase a populao da Escandinria ( 50% aos 50 anos). As populaes do
Canad, dos Estados Unidos, da Bolvia e do Chile, so outros exemplos de grupos
com risco elevado de litase.
As populaes onde a prevalncia de litase bastante menor, localizam-se em fri-
ca (a sul do Saar) e na sia.
2. MORFOLOGIA E COMPOSIO
De acordo com a sua composio, os clculos biliares dividem-se em clculos de
colesterol, clculos pigmentares pretos e clculos pigmentares castanhos.
Clculos de colesterol
So os mais frequentes, no mundo ocidental, sendo constitudos por colesterol puro,
ou tendo esta substncia como componente principal. Os primeiros, so usualmente
grandes e branco-amarelados. Os segundos contm mais de 50% de colesterol, so
mais frequentes do que os de colesterol puro, tendem a ser mais pequenos e frequen-
temente so mltiplos.
Clculos pigmentares pretos
So compostos de bilirrubinato de clcio puro, ou de complexos de clcio, cobre e
grande quantidade de glicoprotenas de mucina. So mais comuns em doentes com
cirrose heptica ou quadros hemolticos crnicos.
Clculos pigmentares castanhos
So compostos de bilirrubinato de clcio, com vrias quantidades de colesterol e pro-
tenas. Estes clculos associam-se usualmente a infeces. Microscpicamente, evi-
VESCULA E VIAS BILIARES - Litase Biliar
687
denciam-se citoesqueletos de bactrias, testemunhando o papel destes microorganis-
mos na sua gnese.
3. FACTORES DE RISCO
Idade e sexo
A prevalncia aumenta com a idade, uma vez que os clculos raramente se dissol-
vem espontneamente, ao mesmo tempo que se acentua a secreo de colesterol
e diminui a formao de cidos biliares com o volver dos anos.
J referimos que na mulher a prevalncia de litase duas a trs vezes superior
do homem, porque os estrognios aumentam a secreo de colesterol para a blis.
Obesidade, perda de peso, alimentao parenteral
reconhecida a associao entre a obesidade e a colelitase. A obesidade deter-
mina aumento da secreo de colesterol na blis, e tambm da sua sntese.
A perda rpida de peso foi recentemente admitida como factor de risco, na medi-
da em que induz incremento da secreo heptica de colesterol, aumenta a pro-
duo de mucina (importante factor de conglomerao dos cristais de colesterol)
e diminui a motilidade da vescula. Por isso, os doentes obesos em regime rgido
de emagrecimento, devem ser medicados com o cido ursodesoxiclico.
A alimentao parenteral toral tambm um factor litognico, em utilizao pro-
longada (semanas). Induz hipomotilidade vesicular e estase biliar, e diminuio
no relaxamento do esfincter de Oddi. O tratamento profilctico com colecistoqui-
nina-octapeptdeo tem-se revelado benfico.
Gravidez e multiparidade
A gravidez constitui factor de risco de litognese, por aumentar a secreo de
colesterol e diminuir a motilidade da vescula. A incidncia de formao de sedi-
mento biliar ou de clculos durante a gravidez, de 30% e 2%, respectivamen-
te. Aps o parto, o sedimento ou lama biliar desaparecem em 60-70% dos
casos, e os clculos em 20-30%.
A multiparidade, especialmente na mulher jvem, acentua o risco de litognese.
Drogas
So considerados litognicos, os seguintes frmacos: estrognios e contraceptivos
orais (por aumento da secreo de colesterol), clofibratos (por diminuio da con-
centrao de cidos biliares), octretido (por diminuio da motilidade vesicular)
e a ceftriaxona, uma cefalosporina de 3 gerao (por originar a precipitao de
sais de clcio).
Doenas do Aparelho Digestivo
688
Dieta e perfil lipdico
A hipertrigliceridmia considerada factor de risco litognico, o mesmo no acon-
tecendo com a hipercolesterolmia.
Relativamente dieta, os dados existentes so conflituosos, sobretudo no tocan-
te ao consumo excessivo de gorduras.
Doenas sistmicas
Discute-se se a diabetes uma enfermidade litognica. A prevalncia aumentada
de clculos nalgumas sries, estar provvelmente ligada ao facto de muitos dia-
bticos terem excesso de peso e apresentarem hipertrigliceridmia.
As doenas do leo podem contribuir para a litognese, designadamente a doen-
a de Crohn, na medida em que induzem uma excreo excessiva de sais biliares
com reduo do pool de cidos biliares.
4. PATOGNESE
Clculos de colesterol
Trs principais mecanismos so responsabilizados na sua formao: supersaturao
em colesterol, acelerao na conglomerao de cristais de colesterol e hipomotilida-
de da vescula biliar.
Supersaturao em colesterol.
considerado o factor chave da litognese. Quando o ndice litognico, ou ndice
de saturao do colesterol, inferior a 1, as capacidades de solubilizao micelar
dos sais biliares e dos fosfolpidos so suficientes para manter o colesterol em
soluo; quando esse ndice superior a 1, formam-se cristais de colesterol, mais
ou menos rapidamente. Embora condio indispensvel, a supersaturao em
colesterol pode no ser factor suficiente de litognese. De facto, h indivduos com
blis supersaturada, nos quais no se evidenciam cristais de colesterol.
Conglomerao dos cristais de colesterol (nucleating and antinucleating factors).
Desde h alguns anos admitida a existncia de factores condicionantes da con-
densao ou agregao de micelas ou vesculas em cristais de colesterol, que aca-
bam por conglomerar em clculos. Os principais factores at agora identificados
neste proceso de facilitao da cristalizao do colesterol so: glicoproteinas da
mucina, normalmente segregadas pela vescula biliar, carbonato de clcio, bilirru-
binato e fosfato de clcio, IgG e IgM, aminopeptidase-N, haptoglobina e glicopro-
teina cida 1.
VESCULA E VIAS BILIARES - Litase Biliar
689
Hipomotilidade da vesicula.
amplamente reconhecido o papel da vescula na patognese da litase. Os doen-
tes com colelitase apresentam deficincias na motilidade vesicular, traduzidas em
aumento do volume em jejum e do volume residual. Evidenciam uma reduo da
resposta contrctil colecistoquinina, o mais potente estimulante fisiolgico da
vescula. Desconhece-se ainda o mecanismo da hipomotilidade vesicular na litase.
Clculos pigmentares
Os clculos pigmentares pretos resultariam da hipersecreo de conjugados da bilir-
rubina (sobretudo monoglucoronidos) na blis. Pela aco da -glucoronidase formar-
se-iam compostos de bilirrubina no conjugados que co-precipitariam com sais de cl-
cio, em meio cido. Ocorre tambm hipersecreo de mucina, que facilitaria a litog-
nese.
Os clculos pigmentares castanhos, resultam da infeco anaerbica da blis. A esta-
se facilita a infeco bacteriana, bem como a acumulao de muco e de citoesquele-
tos bacterianos nos ductos biliares. Enzimas bacterianas produzem bilirrubina no
conjugada, cidos gordos e cidos biliares no conjugados, que formam complexos
com o clcio, de que resultam sais de clcio insolveis e posteriormente clculos pig-
mentares.
5. HISTRIA NATURAL
A histria natural deve analisar-se em dois grupos separados de doentes: os assin-
tomticos e os que evidenciam sintomas. Os dados da autpsia mostram claramente
que a grande maioria das situaes de litase biliar so assintomticas, e permane-
cem assintomticas. A verdadeira incidncia de complicaes na litase assintomtica
ou sintomtica, crucial para a definio de recomendaes teraputicas.
Litase assintomtica
O grupo italiano de estudo da epidemiologia e preveno da colelitase, apresentou
um longo estudo prospectivo em doentes assintomticos, apurando-se uma incidn-
cia de desenvolvimento de clica biliar, aos 2, 4 e 10 anos, de 12%, 17% e 26%, res-
pectivamente. A taxa cumulativa de complicaes biliares aos 10 anos, foi de 3%.
Litase sintomtica
A histria natural da litase sintomtica mais agressiva. Nos Estados Unidos, o
Doenas do Aparelho Digestivo
690
National Cooperative Gallstone Study evidenciou que nos doentes com um episdio
de clica biliar antes da entrada no estudo, houve recorrncia da dor biliar num ritmo
de 38%/ano. Calcula-se que o risco de desenvolvimento de complicaes de
1-2%/ano.
6. CLNICA
Como j se referiu, a maioria das situaes de litase vesicular no do sintomas,
sendo o seu achado puramente acidental. Noutros casos, porm, o doente apresenta
queixas clnicas, desde a tpica clica biliar at complicaes mais ou menos severas.
O espectro clnico da colelitase pode ilustrar-se do seguinte modo:
Com base neste grfico, analisemos a abordagem clnica da colelitase, considerando
em primeiro lugar a doena litisica no complicada, e posteriormente as vrias com-
plicaes possveis.
Clculo na vescula
Permanece na
vescula
Obstruo do
canal cstico
Migrao para
o coldoco
Colangite
Pancreatite
Ictercia
obstrutiva
Sem
sintomas
Clica biliar Mucocelo Colecistite
Assintomtico
? Carcinoma
da vescula
Colecistite
crnica
Clica biliar
recorrente
Resoluo Complicaes:
- Perfurao
- Sepsis
- Fstula
- Ileo biliar
VESCULA E VIAS BILIARES - Litase Biliar
691
A COLELITASE NO COMPLICADA
1 Clnica
A clica biliar o sintoma mais comum de apresentao clnica. Cerca de 5% dos
doentes com litase vesicular sintomtica procuram assistncia clnica por apresenta-
rem dor.
A sndrome da clica biliar determinada pela obstruo intermitente do canal csti-
co, por um ou vrios clculos. Pode no ocorrer inflamao da vescula associada
obstruo, pelo que deve ser evitada a designao de colecistite crnica. De facto,
no h correlao entre a severidade e a frequncia da clica biliar, e as alteraes
patolgicas na vescula.
As alteraes histolgicas mais comummente observadas na vescula so discreta
fibrose e infiltrao inflamatria na parede, com mucosa intacta. Contudo, episdios
recorrentes de clica biliar podem associar-se a uma vescula esclero-atrfica com
divertculos intramurais (seios de Rokintansky-Aschoff ). Na colica biliar pura, a infec-
o bacteriana no intervm na sua gnese.
A dor da clica biliar tem uma origem visceral, apresentando as seguintes caracters-
ticas usuais:
Inicio abrupto, acordando o doente durante a noite;
Localizao epigstrica ou no quadrante superior direito;
Carcter constante;
Irradiao para o quadrante superior direito ou regio infraescapular;
Durao de duas a seis horas;
Recorrncia semanal a anual;
No associada a refeies.
Embora estas caractersticas clnicas sejam as mais comuns, podem existir variaes
neste padro tpico: inicio gradual ou lento; localizao infraescapular, torcica ou no
quadrante superior esquerdo; carcter ondulante ou tipo clica; irradiao ausente ou
para o quadrante superior esquerdo; durao superior a seis horas ou, raramente,
inferior a uma hora; recorrncia diria ou mesmo horria; incio ps-prandial ou aps
ingesto de refeies gordurosas; associao da dor com nuseas e vmitos, e mais
raramente com flatulncia, enfartamento e diarreia.
No exame fsico, no se detectam sinais de toxicidade sistmica (febre, arrepios, hipo-
tenso), no existe dor de ressalto presso abdominal, nem rigidez parietal.
Doenas do Aparelho Digestivo
692
2 Diagnstico
No doente com clica biliar no complicada, os dados laboratoriais esto usualmen-
te normais, no existindo nomeadamente leucocitose. Elevaes na bilirrubinmia,
fosfatase alcalina ou amilase, sugerem a coexistncia de coledocolitase.
Ultrassonografia.
em geral o primeiro, e em muitos casos o nico exame imagiolgico a efectuar em
doentes com clica biliar. A US um exame rpido, no invasivo, altamente sensvel
e especfico na deteco de colelitase. Pode ser realizada sem preparao prvia (se
bem que os doentes estejam geralmente em jejum), e capaz de detectar clculos
com dimenses de 3 mm e tambm sedimento biliar, bem como outras alteraes (por
ex. dilatao das vias biliares, pancreatite, massa heptica). A acuidade da US menor
no doente obeso ou com muitos gases intestinais, alm de ser dependente do ope-
rador.
Outros estudos.
Usualmente a histria clnica e a US so suficientes para formular o diagnstico de
litase vesicular no complicada. Em situaes de dvida, h estudos que ainda con-
servam algum valor, designadamente: Rx simples do abdmen, colecistografia oral e
prova de Meltzer-Lyon. Na suspeita de complicaes, pode haver necessidade de recur-
so TC, RM, CPRE ou Eco-endoscopia.
3 Diagnstico diferencial
O diagnstico diferencial da litase vesicular no complicada deve fazer-se sobretudo
com as seguintes situaes:
Doena do refluxo gastro-esofgico
lcera peptica
Clon irritvel
Pancreatite
Diverticulite
Clica renal
Angina pectoris
Radiculopatia
4 Tratamento da colelitase no complicada
Com raras excepes, a colecistectomia profilctica desnecessria e contra-indicada
na litase vesicular assintomtica.
VESCULA E VIAS BILIARES - Litase Biliar
693
Possveis excepes para colecistectomia profilctica na litase assintomtica:
Doente jvem com anemia hemoltica;
Doente com colelitase aguardando transplantao, ou em imunosupresso;
Doente com vescula de porcelana (para preveno do carcinoma da vescula).
No doente com clica biliar no complicada, essencial tratar a dor, preferentemen-
te com AINEs. As manipulaes dietticas no revelaram benefcio na preveno de
novos episdios dolorosos.
A colecistectomia laparoscpica (CL) o tratamento de escolha para a litase sintom-
tica. A oportunidade da cirurgia muito influenciada pela preferncia do doente.
Antes da realizao de colecistectomia, essencial investigar a hiptese da existn-
cia de coledocolitase. Cerca de 5-10% dos doentes submetidos a colecistectomia
apresentam simultneamente clculos no coldoco, frequentemente assintomticos.
So indicaes para investigao de litase do coldoco, antes da realizao de CL:
Ictercia, elevao significativa da fosfatase alcalina e das transaminases;
Ductos biliares dilatados na ultrassonografia;
Colangite.
Cerca de 5% das CL planejadas so convertidas em colecistectomia aberta, usualmen-
te pela existncia de aderncias densas, ou por factores tcnicos.
Nos doentes de alto risco cirrgico, ou que recusam a cirurgia, pode tentar-se o tra-
tamento mdico, mediante a administrao de sais biliares (cido ursodesoxiclico ou
cido chenodesoxiclico) por via oral.
Se esta opo for considerada, o cstico deve encontrar-se desobstrudo (verificao
mediante realizao de colecistografia oral) e os clculos no devem ser radiopacos,
nem superiores a 20 mm de dimetro.
O cido ursodesoxiclico o agente de escolha. A dose de 10 mgr/kg/dia (600 a 900
mgr/dia). Durao do tratamento: 12-24 meses, com monitorizao por US cada 6
meses.
Outras opes teraputicas mdicas de utilizao rara: dissoluo por contacto
(MTBE) e litotrcia extra-corporal + cido uersodesoxiclico.
No quadro seguinte, indicam-se as limitaes e as taxas de sucesso das vrias opes
teraputicas:
Doenas do Aparelho Digestivo
694
B COMPLICAES DA COLELITASE
1 Colecistite aguda
a mais comum complicao aguda da colelitase e a principal indicao para cole-
cistectomia de emergncia.
Patognese
Obstruo do canal cstico por clculo;
Inflamao aguda da mucosa da vescula;
Infeco bacteriana secundria em 50% dos casos.
Clnica
A maioria dos doentes apresentam dor moderada no epigastro ou quadrante supe-
rior direito, que pode irradiar para o ombro ou zona escapular;
Dor presente durante 3-6 horas, antes de o doente solicitar assistncia mdica;
Muitos doentes tm nuseas e vmitos;
Dor com durao > 6 horas favorece a hiptese de colecistite aguda;
No doente idoso, pode no ocorrer dor, ou ser mnima. A colecistite aguda deve
ser considerada em todos os doentes com bacterimia ou sepsis inexplicveis,
abcesso intra-abdominal e peritonite.
Exame fsico
Febre, normalmente pouco elevada (excepto se ocorre perfurao ou gangrena);
Sinal de Murphy positivo;
Vescula palpvel em 33% dos casos;
Ictercia ligeira em 20%.
Achados laboratoriais
tpica a leucocitose de 10-15.000mm
3
;
VESCULA E VIAS BILIARES - Litase Biliar
695
TRATAMENTO DA COLELITASE NO COMPLICADA
Opo xito % Doente Tipos de Durao de Recorrncia
elegvel % clculos tratamento aps 5 anos
Colecistectomia > 90 > 95 S/ limitaes 1 dia 0%
laparoscpica
Dissoluo oral 40 90 10-30 Colesterol 12 24 meses 50% (cido
(cido ursodesoxiclico) < 10 mm
Dissoluo por > 90 > 70 Colesterol 2 3 dias 50%
contacto (MTBE)
Litotrcia extra-corporal + 40 90 7 25 Colesterol 2 3 dias 50%
cido ursodesoxiclico < 20 30 mm +
12 meses de
urso
Doenas do Aparelho Digestivo
696
Os nveis das transaminases, bilirrubina e fosfatase alcalina esto normais ou leve-
mente aumentados;
Discreta elevao da amilasmia, mesmo na ausncia de coledocolitase;
Se a bilirrubinmia > 4 mgr/dl, ou amilase > 1000 U, suspeitar de coledocolitase.
Diagnstico
Baseia-se na clnica e em exames imagiolgicos;
A US o exame frequentemente seleccionado, na medida em que faculta informa-
es relativas ao fgado, ductos biliares, pncreas e outros rgos. rapidamente
realizado, de dia ou de noite, sendo no entanto mais operador dependente do que
o scanning hepatobiliar. A sensibilidade da US na colecistite aguda de 90-95%,
e a especificidade de 80%.
O scanning hepatobiliar consiste na injeco de derivados do cido iminodiac-
tico (HIDA ou DISIDA) que so captados pelo fgado e eliminados na blis. Na cole-
cistite aguda, o radionuclido no penetra na vescula, sendo eliminado no duode-
no. Um scan positivo (lido s 3-4 horas aps injeco), revela uma vescula no
preenchida, com excreo do produto no intestino delgado. Sensibilidade do
exame para a colecistite aguda: 95%. Especificidade: 90%. A estase vesicular pode
condicionar o aparecimento de falsos positivos.
Tratamento
Na suspeita de colecistite aguda solicitar: leucograma, US ou IDA, e parecer cirrgi-
co;
Medidas iniciais:
Reequilbrio hidroelectroltico, sonda nasogstrica (se vmitos severos), anti-
bioterpia (por ex. cefalosporina de 3 gerao + metronidazol). Analgesia
sem mascarar os sintomas/sinais.
Evoluo aps admisso hospitalar:
A maioria dos doentes melhoram dentro de 24-72 horas, sem interveno
cirrgica;
Alguns doentes no evidenciam melhoria, podendo mesmo piorar. Nesse
caso, providenciar interveno cirrgica
Timing da cirurgia:
A deciso de operar depende do julgamento de um clnico/cirurgio experien-
te. As opes teraputicas consistem na realizao de colecistectomia (aber-
ta ou por via laparoscpica) ou de colecistostomia se existe sria descompen-
sao mdica, designadamente cardaca ou pulmonar.
2 Coledocolitase
Os clculos formados na vescula biliar e que migraram para o coldoco so habitual-
mente ricos em colesterol. Os clculos desenvolvidos nos ductos biliares so usual-
696
mente pigmentares, constitudos predominantemente por bilirrubinato de clcio.
Clnica
A coledocolitase muitas vezes assintomtica;
As manifestaes clinicas da litase no coldoco, inclem: dor, febre, arrepios, icte-
rcia obstrutiva e pancreatite. Em geral, a ictercia obstrutiva por litase acompa-
nha-se de dor, ao passo que a obstruo maligna com ictercia frequentemente
indolor;
Os clculos pequenos apresentam um maior risco de originarem pancreatite aguda,
pela facilidade de migrao atravs do canal cstico;
A apresentao clnica da coledocolitase pode ser dominada por sinais de infec-
o. A colangite muito mais frequente na coledocolitiase do que na obstruo
maligna. A trade clssica de Charcot dor abdominal, febre e ictercia caracteri-
za o quadro de colangite, embora nem sempre esteja presente.
Os doentes que foram submetidos a colecistectomia, podem apresentar sintomas
de colelitase, desde alguns dias at muitos anos aps a interveno cirrgica.
Dados laboratoriais
A maioria dos doentes com coledocolitase sintomtica apresentam alteraes das
provas hepticas;
As anomalias bioqumicas incluem elevao srica das transaminases, fosfatase
alcalina e gama-GT. A hiperbilirrubinmia pode estar ausente. Valores elevados da
amilasmia podem traduzir pancreatite aguda;
Uma caracterstica peculiar da acentuada elevao das transaminases sricas na
obstruo biliar aguda, a sua rpida queda mesmo persistindo a obstruo. As
transaminases baixam enquanto sobem os nveis da fosfatase alcalina e da gama-
GT;
Devem realizar-se hemoculturas quando esto presentes sinais de infeco (febre,
calafrios, leucocitose, etc.).
Diagnstico
Baseia-se na clnica, no laboratrio e em exames imagiolgicos;
A US e a TC podem revelar ductos biliares dilatados, embora a ausncia de dilata-
o no exclua a coledocolitase;
A acuidade da TC na visualizao de clculos no coldoco superior da US. Esta
tem limitaes sobretudo na observao do coldoco distal;
A colangiopancreatografia por ressonncia magntica (CPRM) um mtodo de
visualizao da rvore biliar extremamente promissor, que compete com a CPRE no
mbito do diagnstico;
A eco-endoscopia tem evidenciado uma sensibilidade muito impressiva, rivalizan-
do com a CPRE.
A colangiografia directa continua a ser a modalidade definitiva no diagnstico da
colelitase, claramente definindo o nmero e as dimenses dos clculos. A CPRE
VESCULA E VIAS BILIARES - Litase Biliar
697
tem ainda a vantaem de ser uma tcnica teraputica.
Tratamento
A esfincterotomia endoscpica, introduzida em 1970, tornou-se o tratamento de
eleio na maioria dos centros, relegando para um plano secundrio a coledoco-
tomia cirrgica;
Antes do advento da colecistectomia laparoscpica (CL), no final da dcada de 80,
uma prtica comum consistia na extraco dos clculos do coldoco por CPRE,
aps o que se realizava colecistectomia aberta;
Com a rpida disseminao da CL, passou a adoptar-se este mtodo, aps a esfinc-
terotomia endoscpica;
Esta tcnica teraputica endoscpica possibilita a extraco de clculos em mais
de 90% dos doentes, mediante a utilizao de metodologias sofisticadas;
So complicaes da CPRE com esfincterotomia:
Pancreatite aguda (5%);
Hemorragia (2-3%), usualmente jugulada com mtodos de hemostase endos-
cpica;
Perfurao (1%), que frequentemente responde teraputica mdica;
Infeco, ocorre quando no houve drenagem adequada;
Quando os clculos do coldoco so volumosos, quem executa a esfincterotomia
endoscpica (usualmente um gastroenterologista) pode socorrer-se de metodolo-
gias tcnicas adjuvantes para a extraco desses clculos: litotrcia mecnica, por
laser, electrohidrulica, por ultra-sons ou extra-corporal;
Nas situaes em que no possvel extrair os clculos da via biliar principal, h
o recurso cirurgia, se o doente no apresenta risco operatrio. Se este existe,
poder recorrer-se colocao de uma prtese na via biliar, mtodo que apresen-
ta risco de complicaes, usualmente de colangite, entre 10-40%, num perodo de
5-10 anos.
3 Colangite
Patofisiologia
Obstruo da via biliar principal por clculos, induzindo estase biliar;
Infeco bacteriana da blis estagnada;
Bacterimia precoce.
Clnica
Trade de Charcot: dor, ictercia e febre, presente em 70% dos doentes;
A dor pode ser discreta e transitria, acompanhando-se de arrepios;
Doenas do Aparelho Digestivo
698
Confuso mental, letargia e delrio, sugestivos de bacterimia.
Exame fsico
Febre em 95% dos casos;
Hipersensibilidade no quadrante superior direito em 90%;
Ictercia em 80% dos casos;
Sinais peritoneais em 15%;
Hipotenso com confuso mental em 15% dos casos, sugerindo sepsis por
gram-negativos.
Dados laboratoriais
Leucocitose em 80% dos casos;
Bilirrubina > 2 mgr/dl em 80% das situaoes;
Fosfatase alcalina usualmente elevada;
Hemoculturas usualmente positivas, sobretudo nos picos febris.
Diagnstico
CPRE
Colangiograma transheptico.
Tratamento
CPRE com esfincterotomia urgente com extraco dos clculos ou pelo menos des-
compresso biliar;
Antibioterpia para cobertura de microorganismos gram-negativos;
Colecistectomia electiva.
4 Pancreatite aguda litisica
Ver tema Pancreatite Aguda
5 Outras complicaes da colelitase
a) Hidrpsia.
Distenso no inflamatria da vescula resultante da ocluso do canal cstico por
clculo ou lama biliar. Apresentao clnica varivel, desde queixas discretas at
dor severa.
b) Vescula de porcelana.
Calcificao da parede da vescula, podendo ser detectada por radiografia simples
do abdmen, ou por TC. Potencialidade de malignizao. Indicao para colecistec-
tomia profilctica.
VESCULA E VIAS BILIARES - Litase Biliar
699
c) Sindrome de Mirizzi.
Obstruo do canal heptico comum em consequncia de compresso extrnseca
por clculo no canal cstico ou no colo da vescula. A apresentao clnica usual-
mente similar da colangite aguda. O tratamento implica a colecistectomia.
d) Fstulas.
Podem desenvolver-se, em consequncia da eroso da parede vesicular por um
clculo. Locais mais comuns de fistulizao: duodeno e clon. As fstulas colecis-
toentricas podem requerer, ou no, tratamento especfico. Por exemplo, uma fs-
tula assintomtica entre a vescula e o duodeno no necessita de tratamento.
e) Ileo biliar.
Obstruo intestinal por clculo volumoso impactado na vlvula ileocecal ou em
rea estenosada intestinal. Deve suspeitar-se da causa desta obstruo orgnica
se existe ar nas vias biliares.
Doenas do Aparelho Digestivo
700
VESCULA E VIAS BILIARES - Litase Biliar
701
REFERNCIAS
Heuman DM, Wassef WY, Vlahcevic ZR. Gallstones. In: Schiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC (Eds). Schiffs Diseases of the Liver.
Lippincott-Raven 1999:631-648.
Donovan JM, Shields SJ. Treatment of gallstones. In: Wolfe MM (Ed). Therapy of Digestive Disorders. W.B. Saunders Co. 2000:207:218.
Berci G, Cushieri A (Ed). Bile ducts and bile duct stones. W.B. Saunders Co. 1997.
Law CHL, Tandan VR. Gallstone disease: surgical treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B (Eds). Evidence based Gastroenterology
and Hepatology. BMJ Books 1999:260-270.
Strasberg SM. Colelithiasis and acute cholecystitis. Baillieres Clin Gastroenterol 1997;11(4):643-662.
Raraty MGT, Pope IM, Finch M et al. Choledocholithiasis and gallstone pancreatitis. Baillieres Clin Gastroenterol 1997;1(4):663-680.
Lee DWH, Chung SCS. Biliary infection. Baillieres Clin Gastroenterol 1997;11(4):707-724.
Heuman DM, Schiffman ML. Prevention and medical treatment of gallstones. In: Friedman G, Jacobson ED, McCallum RW (Eds).
Gastrointestinal Pharmacology & Therapeutics. Lippincott-Raven 1997:513.526.
Dowling RH. Gallbaldder stones: from pathogenesis to prophylaxis. In: Grima N, Camilo ME, Oliveira AG, Santos AA. Doenas das Vias
Biliares e Pncreas. Ed. Bial 1996:31-48.
Ginestal da Cruz A. Abordagem diagnstica da colestase. Tese de doutoramento (Ed. do autor). Lisboa 1983.
Ginestal da Cruz A, Grima N, Duarte V et al. Extracorporal Schock Wave Lithotripsy for large comon bile duct stones; an extension of the
endoscopic aproach. J Lithot St Dis 1989;1:272-281.
Leito M, Portela F, Pontes J et al. Ecoendoscopia: que lugar na semiologia da coledocolitase? In: Grima N, Camilo ME, Oliveira AG, Santos
AA (Eds). Doenas das Vias Biliares e Pncreas. Ed. Bial 1996:109-117.
Ponchon T. Diagnostic endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Endoscopy 2000;32(3):200-208.
Costamagna G. Therapeutic Biliary Endoscopy. Endoscopy 2000;32(3):209-216.
Freitas D, Goulo MH, Ramos HV. A pancreatocolangiografia endoscopica nos quadros de colestase. J. do Mdico 1978;XCVII (1797):397-402.
Carrilho Ribeiro L. A litotrcia extra-corporal da litase vesicular. Tese de doutoramento. (Ed. do autor). Lisboa 1998.
Baranda J, Ministro P, Freitas D et al. Litase biliar na cirrose heptica alcolica. Rev Gastrenterol & Cir 1994;XI:216-222.
Bilhartz LE, Horton JD. Gallstone disease and its complications. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds.). Sleisenger &
Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease. W.B. Saunders Co. 1998:948-972.
Freitas D. Litase biliar. In: Freitas D (Ed.). Temas de Gastrenterologia (2 vol) 1986:263-280.
Simo A, Santos R, Silva JA et al. Litase biliar: estudo epidemiolgico. Rev Gastrenterol 1992;IX:61-67.
Acalovschi M. Cholesterol gallstones: from epidemiology to prevention. Postgrad Med J. 2001 Apr;77(906):221-9.
Gambiez L. How should biliary lithiasis be managed? Gastroenterol Clin Biol. 2001 Jan;25(1 Suppl):1S128-39.
Boyer J. The place of ERCP and sphincterotomy in biliary acute pancreatitis. Gastroenterol Clin Biol. 2001 Jan;25(1 Suppl):1S122-7.
Binmoeller KF, Schafer TW. Endoscopic management of bile duct stones. J Clin Gastroenterol. 2001 Feb;32(2):106-18.
Erlinger S. Gallstones in obesity and weight loss. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Dec;12(12):1347-52.
Beckingham IJ. ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system. Gallstone disease. BMJ. 2001 Jan 13;322(7278):91-94.
Rosseland AR, Glomsaker TB. Asymptomatic common bile duct stones. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Nov;12(11):1171-3.
Frimberger E. Laparoscopic cholecystotomy. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Apr;13(1):199-205.
van Erpecum KJ, Venneman NG, Portincasa P, Vanberge-Henegouwen GP. Review article: agents affecting gall-bladder motilityrole in
treatment and prevention of gallstones. Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl 2:66-70.
Pazzi P, Scagliarini R, Gamberini S, Pezzoli A. Review article: gall-bladder motor function in diabetes mellitus.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl 2:62-5.
Festi D, Colecchia A, Larocca A, Villanova N, Mazzella G, Petroni ML, Romano F, Roda E. Review: low caloric intake and gall-bladder motor
function. Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl 2:51-3.
Petroni ML. Review article: gall-bladder motor function in obesity. Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl 2:48-50.
Dowling RH. Review: pathogenesis of gallstones. Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl 2:39-47.
Pauletzki J, Paumgartner G. Review article: defects in gall-bladder motor functionrole in gallstone formation and recurrence.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl 2:32-4.
Jazrawi RP. Review article: measurement of gall-bladder motor function in health and disease.
Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl 2:27-31.
Portincasa P, Minerva F, Moschetta A, Venneman N, Vanberge-Henegouwen GP, Palasciano G. Review article: in vitro studies of gall-blad-
der smooth muscle function. Relevance in cholesterol gallstone disease. Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl 2:19-26.
Heaton KW. Review article: epidemiology of gall-bladder diseaserole of intestinal transit. Aliment Pharmacol Ther. 2000 May;14 Suppl
2:9-13.
Park AE, Mastrangelo MJ Jr. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the management of choledocholithiasis.
Surg Endosc. 2000 Mar;14(3):219-26.
Buscarini E, Buscarini L. The role of endosonography in the diagnosis of choledocholithiasis. Eur J Ultrasound. 1999 Nov;10(2-3):117-25.
Sahai AV. Disease-specific outcomes assessment for common bile duct stones. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Oct;9(4):705-15.
Neuhaus H. Intrahepatic stones: the percutaneous approach. Can J Gastroenterol. 1999 Jul-Aug;13(6):467-72.
Freeman ME, Rose JL, Forsmark CE, Vauthey J. Mirizzi syndrome: A rare cause of obstructive jaundice. Dig Dis. 1999;17(1):44-8.
Marco Domenech SF, Lopez Mut JV, et al. Bouverets syndrome: the clinical and radiological findings.
Rev Esp Enferm Dig. 1999 Feb;91(2):144-8.
Howard DE, Fromm H. Nonsurgical management of gallstone disease. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Mar;28(1):133-44.
Ko CW, Lee SP. Gallstone formation. Local factors. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Mar;28(1):99-115.
Donovan JM. Physical and metabolic factors in gallstone pathogenesis. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Mar;28(1):75-97.
Ko CW, Sekijima JH, Lee SP. Biliary sludge. Ann Intern Med. 1999 Feb 16;130(4 Pt 1):301-11.
Van Erpecum KJ, Van Berge-Henegouwen GP. Gallstones: an intestinal disease? Gut. 1999 Mar;44(3):435-8.
Kratzer W, Mason RA, Kachele V. Prevalence of gallstones in sonographic surveys worldwide. J Clin Ultrasound. 1999 Jan;27(1):1-7.
Doenas do Aparelho Digestivo
VESCULA E VIAS BILIARES - Tumores
703
SECO V - VESCULA E VIAS BILIARES
CAPTULO XXXIV
TUMORES
1. Tumores de Vescula
2. Tumores dos Ductos Biliares
3. Tumores da Ampola de Vater
703
Doenas do Aparelho Digestivo
1. TUMORES DA VESICULA BILIAR
A Tumores Benignos
O pseudoplipo representa a leso polipide mais frequentemente encontrada na
vescula. No se trata de uma verdadeira neoplasia, mas de projeces da mucosa
para o lume vesicular, constitudas essencialmente por colesterol. Usualmente assin-
tomticas, estas leses tm habitualmente < 1 cm de dimetro e evidenciam-se nos
estudos imagiolgicos da vescula como imagens lacunares sem mobilidade. No tm
potencial maligno .
A adenomiomatose consiste no espessamento da parede muscular da vescula com
seios de Rokitansky Aschoff. Representariam uma hipertrofia muscular secundria a
disquinsia biliar, podendo associar-se a carcinoma da vesicula.
O adenoma representa um verdadeiro tumor epitelial da mucosa, usualmente solit-
rio, no mvel no exame imagiolgico (US ou colecistografia oral). Pensa-se que no
desempenha um papel importante na patognese do cancro da vescula, se bem que
se considere uma situao pr-maligna.
Dado que impossvel determinar a estrutura histolgica das leses polipides da
vescula pr-operatoriamente, os doentes com plipos > 1 cm devem ser submetidos
a colecistectomia. Os plipos com dimenses 0.5 cm devem ser submetidos a con-
trolos ecogrficos peridicos (cada 12 meses). Devem submeter-se a colecistectomia
todos os doentes com sintomas biliares e formaes polipides da vescula.
B CARCINOMA DA VESCULA
1. Incidncia
o tumor maligno mais comum do tracto biliar, e o quinto mais comum dos tumores
gastrointestinais (cerca de 3-4%).
Relao mulher: homem de 3:1. Idade usual de inicio: sexta ou stima dcada da vida.
2. Etiologia (Factores de risco)
VESCULA E VIAS BILIARES - Tumores
705
LITASE.
Presente em mais de 90% dos carcinomas da vescula; no entanto, s 1% dos doen-
tes com colelitase desenvolvem carcinoma da vescula. Os clculos grandes (> 3 cm)
associam-se mais frequentemente (10 x mais) ao carcinoma.
QUISTOS DO COLDOCO.
Associam-se a carcinoma em todo o tracto biliar, designadamente, na vescula.
Recomenda-se a sua exrese cirrgica, conjuntamente com colecistectomia.
CARCINOGNIOS.
Identificados o azotolueno, nitrosaminas e exposio na indstria da borracha.
ESTROGNIOS.
Associao epidemiolgica.
PORTADORES DA SALMONELA TFICA.
Ocasiona irritao e inflamao vesicular.
VESICULA DE PORCELANA.
Esta calcificao da parede vesicular justifica colecistectomia profilctica.
PLIPOS DA VESICULA.
Potencial pr-maligno dos adenomas e adenomiose. Colecistectomia indicada em pli-
pos > 1 cm.
3. Anatomia Patolgica. Estadiamento.
TIPO HISTOLGICO:
Adenocarcinoma (cirroso 65%; papilar 15%; colide 10%).
Anaplsico (5%).
Escamoso (5%).
VIAS DE DISSEMINAO:
Extenso local.
Drenagem linftica.
Disseminao venosa.
Invaso directa de orgos adjacentes.
ESTADIAMENTO (TMN):
Estadio 0 carcinoma in situ.
Estadio I Confinado mucosa e muscularis
Estdio II Invaso do tecido conectivo perimuscular, mas no da serosa.
Doenas do Aparelho Digestivo
706
Estdio III Perfurao da serosa e/ou invaso de orgos adjacentes, ou metsta-
ses para canal cstico, pericoledoco ou gnglios do hilo heptico.
Estdio IV Metstases para gnglios ou orgos distantes.
4. Clnica
Dor abdominal, presente em cerca de 80% dos doentes, usualmente com durao infe-
rior a um ms, difcil de distinguir de colecistite aguda ou clica biliar
Nuseas/vmitos (50%).
Perda de peso (40%).
Ictercia (30-40%).
Achado incidental no acto da colecistectomia por litase (10-20%).
Na doena avanada palpa-se uma massa no quadrante superior direita, e pode detec-
tar-se hepatomeglia e ictercia.
5. Diagnstico
No mbito laboratorial, no existe um marcador tumoral. Provas hepticas alteradas
se existe obstruo biliar.
Ultrassonografia (US): sensibilidade de 75-80%. Achados: massa preenchendo o lume
vesicular, massa polipide, clculos. Pode ser normal em 10% dos casos.
Tomografia Computorizada (TC): achados semelhantes aos da US, no entanto define
melhor a extenso da leso.
Ressonncia Magntica: no superior TC
Colangiografia: por via endoscpica (CPRE) ou por via percutnea, est indicada quan-
do existe evidncia clnica de obstruo biliar. Pode ser utilizada como meio terapu-
tico pr-operatrio (descompresso biliar) ou como teraputica paliativa (colocao de
prtese biliar).
Angiografia: utilizada para avaliao de ressecabilidade.
6. Tratamento
Depende do estdio do tumor. A taxa de ressecabilidade cirrgica situa-se entre 15-
30%. Se o tumor est confinado parede vesicular: colecistectomia. Se o tumor pene-
trou a parede, a resseco inclui a vescula, o segmento V do fgado, a poro ante-
rior do segmento IV e a disseco ganglionar linftica. Os investigadores japoneses
incluem a associao de resseco heptica + pancreatoduodenectomia.
Se a investigao evidencia a existncia de uma disseminao avanada, local ou a
distncia, s h lugar a teraputica paliativa, designadamente com colocao de endo-
prtese se existe ictercia obstrutiva. A dor combate-se com narcticos orais ou com
VESCULA E VIAS BILIARES - Tumores
707
bloqueio percutneo do plexo celaco.
No tocante a teraputica adjuvante ps-cirrgica, estudos no controlados evidenciam
melhoria na taxa de sobrevida com altas doses de radioterpia local ou administra-
o superselectiva intra-arterial de mitomicina C.
7. Prognstico
Taxa de sobrevida aos 5 anos < 5%.
A sobrevida depende do estdio do tumor. Estdio I: 85% aos 5 anos. Estdio II, III
e IV, sobrevida de 25%, 10% e 2%, respectivamente, aos 5 anos.
Tumores no ressecveis: sobrevida mdia de 2 6 meses.
2. TUMORES DOS DUCTOS BILIARES
A TUMORES BENIGNOS
QUISTOS DO COLDOCO:
Dilataes qusticas benignas, simples ou mltiplas dos ductos biliares extra-hepti-
cos. So congnitos, quatro vezes mais frequentes na mulher.
75% dos doentes so afectados antes dos 20 anos. O complexo sintomtico clssico
de dor, massa e ictercia visto em menos de 50% dos casos. As complicaes dos
quistos incluem: pancreatite, rotura, formao de clculos, abcesso heptico e cirro-
se. A neoplasia dos ductos biliares, usualmente adenocarcinoma, desenvolve-se em
15% dos doentes aps os 20 anos de idade.
O diagnstico confirmado por US ou TC, sendo tambm til o scan biliar. A colan-
giografia por via endoscpica ou percutnea essencial para o estudo da origem do
quisto e da anatomia ductal biliar.
O tratamento consiste na exciso cirrgica com reconstruo com coledocojejunosto-
mia ou hepaticojejunostomia.
OUTROS TUMORES BENIGNOS
So extremamente raros. Incluem-se neste item: papilomas, adenomas, cistadenomas,
neurofibromas, mioblastomas, leiomiomas e tumores carcinides.
Manifestam-se clinicamente por ictercia e frequentemente tambm por dor. O diag-
nstico feito usualmente por US. O tratamento cirrgico.
Doenas do Aparelho Digestivo
708
B - COLANGIOCARCINOMA
1. Incidncia
Representa cerca de 25% dos carcinomas hepatobiliares.
Computa-se a incidncia nos Estados Unidos da Amrica em 1 por 100.000 habitan-
tes/ano.
Relao homem: mulher de 2: 1. Idade mais frequente de diagnstico: 50-70 anos.
2. Factores de risco
Evidncia de forte associao com:
Doena de Caroli/quisto do coldoco.
Infeco por Clonorchis sinensis (sia).
Hepatolitase.
Colangite esclerosante
Colite Ulcerosa
Evidncia de possvel associao com:
Asbestos
Dioxinas
Isoniazida
Metildopa
Contraceptivos orais
Radionucletidos
3. Anatomia Patolgica.
HISTOLOGIA
Adenocarcinoma em 95% dos casos.
LOCALIZAO (Excluindo os intra-hepticos que compreendem 6% dos colangiocarci-
nomas):
Coldoco: 33% a 40%
Ducto heptico comum: 30-32%
Bifurcao do ducto heptico: 20%
Canal cstico : 4%
Difuso: 7%
VESCULA E VIAS BILIARES - Tumores
709
4. Clnica
Ictercia presente em mais de 90% dos doentes.
Prurido.
Perda de peso.
Dor abdominal, vaga, no especfica e ligeira.
Colangite (rara).
No exame fsico: ictercia, hepatomeglia e vescula palpvel (s nos tumores distais).
5. Diagnstico e Estadiamento
LABORATRIO
Aumento da bilirrubina e da fosfatase alcalina.
Tempo de protrombina aumentado se a obstruo prolongada.
Marcadores tumorais de escasso valor.
IMAGIOLOGIA
US/TC: nos tumores hilares evidenciam dilatao das vias biliares intra-hepticas e
normalidade nos ductos extra-hepticos, vescula e pncreas. Nos tumores distais,
podemos observar dilatao da rvore biliar intra e extra-heptica, com vescula
distendida.
RM: pode ser mais sensvel do que a US e a TC na visualizao do tumor prim-
rio.
COLANGIOGRAFIA: deve ser realizada, por via endoscpica ou percutnea, para
definir a localizao e extenso do tumor. A ltima via prefervel nos tumores
biliares proximais.
ANGIOGRAFIA: deve ser realizada para estudo dos grandes vasos.
BIPSIA E CITOLOGIA PR-OPERATRIA. So exames muito teis, nomeadamente
para confirmao de leso maligna. A citologia por escova (via endoscpica ou per-
cutnea) tem uma acuidade de 40-50%. A aspirao percutnea com agulha fina
ou a bipsia colangioscpica elevam essa taxa para cerca de 70%.
6. Tratamento
A resseco cirrgica completa constitui a nica chance de cura. A reconstruo impli-
ca uma hepaticojejunostomia Roux-en-Y. So critrios de irressecabilidade: extensa
disseminao intra-heptica bilateral, envolvimento do tronco principal da veia porta,
Doenas do Aparelho Digestivo
710
envolvimento bilateral da porta e da artria heptica.
A ressecabilidade maior nos tumores localizados mais distalmente. Cerca de 45%
dos doentes com colangiocarcinoma evidenciam possibilidade de resseco.
A mortalidade peroperatria inferior a 5% nalgumas sries, atingindo noutras os
10%. Constituem factores de risco de morbilidade e mortalidade peroperatria: albu-
mina < 3 gr/dl, colangite intra-heptica, resseco heptica e idade avanada. A dre-
nagem biliar percutnea transheptica pr-operatria reduz o risco de complicaes
peroperatrias, em doentes com sepsis e colangite.
A paliao dos tumores irressecveis requer a restaurao do fluxo biliar, mediante a
colocao de prtese por via endoscpica ou percutnea, by-pass cirrgico bilio-
-entrico ou intubao cirrgica.
Os tumores hilares (tumores de Klatskin) so mais facilmente recanalizados mediante
a colocao de prtese por via percutnea, enquanto que os tumores mais distais so
melhor abordados por via endoscpica.
Relativamente teraputica adjuvante ou paliativa com radioterpia ou quimioterpia,
s deve ser efectuada no mbito de protocolos de investigao, em centros especia-
lizados.
7. Prognstico
COLANGIOCARCINOMA INTRA-HEPTICO
Usualmente diagnosticado em fase avanada (15-20% de taxa de ressecabilidade).
Tumor ressecado: sobrevida de 45-60% aos 3 anos.
Tumor no ressecado: sobrevida mdia de 7 meses.
COLANGIOCARCINOMA HILAR (KLATSKIN)
Resseco hilar: sobrevida 7-11% aos 5 anos.
Resseco hilar e heptica: sobrevida de 10-15% aos 5 anos.
Operado mas no ressecado: sobrevida de 6% aos 2 anos.
No intervencionado: sobrevida mdia de 5 meses.
COLANGIOCARCINOMA DISTAL
Melhor ndice de ressecabilidade (> 50%).
Tumor ressecado: sobrevida de 28% aos 5 anos.
Tumor no ressecado: sobrevida mdia de 8 meses.
VESCULA E VIAS BILIARES - Tumores
711
3. TUMORES MALIGNOS DA AMPOLA DE VATER
O adenocarcinoma da ampola de Vater pode confundir-se com o colangiocarcinoma
ou com o cancro do pncreas. O seu prognstico bem melhor do que estes dois
tumores.
O adenocarcinoma da ampola provavelmente tem origem em pequenos adenomas
benignos da papila duodenal. A sua frequncia aumenta em doentes com polipose
adenomatosa familiar e com sindrome de Gardner. Mesmo em doentes submetidos a
colectomia total, impe-se uma vigilncia peridica da papila duodenal.
Clinicamente, a maioria dos doentes com adenocarcinoma da ampola de Vater apre-
sentam ictercia e prurido, e por vezes tm hemorragia intermitente proveniente da
massa tumoral frivel na parede duodenal, pelo que apresentam melenas. Outras
vezes evidenciam acolia fecal. Mais raramente, estes doentes podem apresentar qua-
dros de colangite, pancreatite ou disfuno do esfncter de Oddi.
No exame fsico, os doentes evidenciam ictercia pouco marcada, ocasionalmente
palidez, hipersensibilidade abdominal e vescula palpvel. Na anlise de fezes h
usualmente positividade para o sangue oculto. Os dados laboratoriais so variveis,
evidenciando comummente elevao da fosfatase alcalina e da bilirrubina. Por vezes,
h elevaes nas transaminases e na amilasmia. A anemia ferropnica usual quan-
do h hemorragia digestiva.
O diagnstico usualmente suspeitado por ultra-sonografia ou tomografia computo-
rizada. No entanto, o principal meio de diagnstico consiste na realizao de CPRE.
Este exame deve ser complementado com bipsia e citologia. Por vezes h necessi-
dade de realizar esfincterotomia, para obteno de material para estudo histolgico e
citolgico.
A resseco cirrgica possvel em cerca de 75% dos doentes com carcinoma da
ampola. A interveno mais recomendada a resseco de Whipple, com uma morta-
lidade operatria de 4-10%. A percentagem de sobrevida aos 5 anos situa-se entre 15-
60%, em funo da invaso ou no das margens de resseco.
A teraputica paliativa comummente obtida mediante CPRE com esfincterotomia e
colocao de endoprtese.
Doenas do Aparelho Digestivo
712
VESCULA E VIAS BILIARES - Tumores
713
REFERNCIAS
Cello JP. Tumors of the Gallblader, Bile Ducts, and Ampulla. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds). Sleisenger & Fordtrans
Gastrointestinal and Liver Disease. W.B. Saunders Co. 1998: 1026-1031
Rall C JN, Chung RT. Cholangiocarcinoma and tumors of the liver other than hepatocellular carcinoma. In: Rustgi AK (ed.).
Gastrointestinal Cancers. Lippincot-Raven 1995: 527-550.
Baillie J. Tumors of the gallbladder and bile ducts. J Clin Gastroenterol 1999; 29 (1): 14-21.
Kapoor VK, Benjamin IS. Biliary malignancies. Baillieres Clin Gastroenterol 1997; 11(4); 801-836.
Tazuma S, Kajiyama G. Carcinogenesis of malignant lesions of the gall bladdeThe impact of chronic inflammation and gallstones.
Langenbecks Arch Surg. 2001 Apr;386(3):224-9.
Vogt M, Jakobs R, Riemann JF. Rationale for endoscopic management of adenoma of the papilla of Vater: options and limitations.
Langenbecks Arch Surg. 2001 Apr;386(3):176-82.
Wittekind C, Tannapfel A. Adenoma of the papilla and ampullapremalignant lesions? Langenbecks Arch Surg. 2001 Apr;386(3):172-5.
Esposito I, Friess H, Buchler MW. Carcinogenesis of cancer of the papilla and ampulla: pathophysiological facts and molecular biological
mechanisms. Langenbecks Arch Surg. 2001 Apr;386(3):163-71.
Sirica AE, Lai GH, Zhang Z. Biliary cancer growth factor pathways, cyclo-oxygenase-2 and potential therapeutic strategies. J Gastroenterol
Hepatol. 2001 Apr;16(4):363-72.
Potter MW, Shah SA, McEnaney P, Chari RS, Callery MP. A critical appraisal of laparoscopic staging in hepatobiliary and pancreatic malignancy.
Surg Oncol. 2000 Nov;9(3):103-10.
Friess H, Holzinger F, Liao Q, Buchler MW. Surveillance of pre-malignant disease of the pancreatico-biliary system. Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2001 Apr;15(2):285-300.
Torok N, Gores GJ. Cholangiocarcinoma. Semin Gastrointest Dis. 2001 Apr;12(2):125-32.
Kapoor VK. Incidental gallbladder cancer. Am J Gastroenterol. 2001 Mar;96(3):627-9.
Franco D, Usatoff V. Surgery for cholangiocarcinoma. Hepatogastroenterology. 2001 Jan-Feb;48(37):53-5.
Ahrendt SA, Nakeeb A, Pitt HA. Cholangiocarcinoma. Clin Liver Dis. 2001 Feb;5(1):191-218.
Fogel EL, Sherman S, Devereaux BM, Lehman GA. Therapeutic biliary endoscopy. Endoscopy. 2001 Jan;33(1):31-8.
Orth K, Beger HG. Gallbladder carcinoma and surgical treatment. Langenbecks Arch Surg. 2000 Dec;385(8):501-8.
Wall WJ. Liver transplantation for hepatic and biliary malignancy. Semin Liver Dis. 2000;20(4):425-36.
Sasatomi E, Tokunaga O, Miyazaki K. Precancerous conditions of gallbladder carcinoma: overview of histopathologic characteristics and
molecular genetic findings. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2000;7(6):556-67.
Bartlett DL.Gallbladder cancer. Semin Surg Oncol. 2000 Sep-Oct;19(2):145-55.
Gores GJ. Early detection and treatment of cholangiocarcinoma. Liver Transpl. 2000 Nov;6(6 Suppl 2):S30-4.
Neuhaus H, Schumacher B.Miniscopes. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Apr;13(1):33-48.
Todoroki T. Chemotherapy for gallbladder carcinomaa surgeons perspective. Hepatogastroenterology. 2000 Jul-Aug;47(34):948-55.
Muratore A, Polastri R, Capussotti L. Radical surgery for gallbladder cancer: current options. Eur J Surg Oncol. 2000 Aug;26(5):438-43.
Neuhaus P, Jonas S. Surgery for hilar cholangiocarcinomathe German experience. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2000;7(2):142-7.
Lillemoe KD, Cameron JL. Surgery for hilar cholangiocarcinoma: the Johns Hopkins approach. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2000;7(2):115-21.
Rumalla A, Petersen BT. Diagnosis and therapy of biliary tract malignancy. Semin Gastrointest Dis. 2000 Jul;11(3):168-73.
Todoroki T. Chemotherapy for bile duct carcinoma in the light of adjuvant chemotherapy to surgery. Hepatogastroenterology.
2000 May-Jun;47(33):644-9.
Ortner MA. Photodynamic therapy of cholangiocarcinoma cancer. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2000 Jul;10(3):481-6.
Rumalla A, Baron TH. Evaluation and endoscopic palliation of cholangiocarcinoma. Management of cholangiocarcinoma. Dig Dis. 1999;17(4):194-200.
Avisse C, Flament JB, Delattre JF. Ampulla of Vater. Anatomic, embryologic, and surgical aspects. Surg Clin North Am. 2000 Feb;80(1):201-12.
Chen MF. Peripheral cholangiocarcinoma (cholangiocellular carcinoma): clinical features, diagnosis and treatment.
J Gastroenterol Hepatol. 1999 Dec;14(12):1144-9.
Chapman RW. Risk factors for biliary tract carcinogenesis. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:308-11.
Van Groeningen CJ. Intravenous and intra-arterial chemotherapeutic possibilities in biliopancreatic cancer. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:305-7.
Ho JJ, Kim YS. Biliopancreatic malignancy: future prospects for progress. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:300-4.
Van Riel JM, Giaccone G, Pinedo HM. Pancreaticobiliary cancer: the future aspects of medical oncology. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:296-9.
Caldas C. Biliopancreatic malignancy: screening the at risk patient with molecular markers. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:153-6.
Obertop H, Gouma DJ. Essentials in biliopancreatic staging: a decision analysis. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:150-2.
Ferrucci JT. Biliopancreatic malignancy current diagnostic possibilities: an overview. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:143-4.
Levin B. Gallbladder carcinoma. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:129-30.
Holzinger F, Zgraggen K, Buchler MW. Mechanisms of biliary carcinogenesis: a pathogenetic multi-stage cascade towards cholangiocarcinoma.
Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:122-6.
Van Leeuwen DJ, Reeders JW. Primary sclerosing cholangitis and cholangiocarcinoma as a diagnostic and therapeutic dilemma.
Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:89-93.
Modolell I, Guarner L, Malagelada JR. Vagaries of clinical presentation of pancreatic and biliary tract cancer. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:82-4.
Palazzo L. Imaging and staging of bilio-pancreatic tumours: role of endoscopic and intraductal ultrasonography and guided cytology.
Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:25-7.
Smits NJ, Reeders JW. Imaging and staging of biliopancreatic malignancy: role of ultrasound. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:20-4.
Freeny PC. Computed tomography in the diagnosis and staging of cholangiocarcinoma and pancreatic carcinoma.
Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:12-7.
Lowenfels AB, Maisonneuve P. Pancreatico-biliary malignancy: prevalence and risk factors. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:1-3.
Houry S, Haccart V, Huguier M, Schlienger M. Gallbladder cancer: role of radiation therapy.
Hepatogastroenterology. 1999 May-Jun;46(27):1578-84.
Baxter I, Garden OJ. Surgical palliation of carcinoma of the gallbladder. Hepatogastroenterology. 1999 May-Jun;46(27):1572-7
Aretxabala X, Roa I, Burgos L. Gallbladder cancer, management of early tumors. Hepatogastroenterology. 1999 May-Jun;46(27):1547-51.
Moerman CJ, Bueno-de-Mesquita HB. The epidemiology of gallbladder cancer: lifestyle related risk factors and limited surgical possibilities
for prevention. Hepatogastroenterology. 1999 May-Jun;46(27):1533-9.
Baillie J. Tumors of the gallbladder and bile ducts. J Clin Gastroenterol. 1999 Jul;29(1):14-21.
Dumonceau JM, Deviere J. The ultraflex diamond stent for malignant biliary obstruction. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Jul;9(3):513-20.
Cozart JC, Haber GB. The endocoil stent for malignant biliary obstruction. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Jul;9(3):503-12.
Huibregtse K. The wallstent for malignant biliary obstruction. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Jul;9(3):491-501.
Howell DA, Nezhad SF, Dy RM. Endoscopically placed Gianturco endoprosthesis in the treatment of malignant and benign biliary obstruction.
Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Jul;9(3):479-90.
Kyriacou E. Carcinoma of the gall-bladder. J Gastroenterol Hepatol. 1999 Mar;14(3):215-9.
Doenas do Aparelho Digestivo
SECO VI
PNCREAS
Doenas do Aparelho Digestivo
PNCREAS - Pancreatite Aguda
717
SECO VI - PNCREAS
CAPTULO XXXV
PANCREATITE AGUDA
1. Definio e Conceitos
2. Patomorfologia
3. Etiologia
4. Patofisiologia
5. Epidemiologia
6. Clnica e Diagnstico
7. Diagnstico Diferencial
8. Complicaes
9. Graduao da Severidade
10. Tratamento
11. Prognstico
717
Doenas do Aparelho Digestivo
1. DEFINIO E CONCEITOS
A pancreatite aguda (PA) um processo inflamatrio agudo do pncreas com envol-
vimento varivel de tecidos regionais ou sistemas orgnicos distncia. Pode ser
impossvel, no momento do internamento, saber se o doente que apresenta um epi-
sdio inicial de PA padece ou no de um processo de pancreatite crnica. Se estudos
posteriores confirmarem esta hiptese, qualquer episdio subsequente de inflamao
aguda ser interpretado como exacerbao da inflamao num doente com pancrea-
tite crnica.
Em termos de severidade clnica, a PA pode ser ligeira, uma entidade associada a dis-
funo orgnica mnima ou inexistente, e a recuperao integral; ou severa, se h evi-
dncia de insuficincia orgnica ou de complicaes locais, designadamente necrose,
abcesso ou pseudoquisto. A evidncia de insuficincia orgnica inclui a ocorrncia de
choque, insuficincia pulmonar e falncia renal. A deteco precoce de sinais de prog-
nstico importante para a definio da severidade da PA.
No plano anatomopatolgico distinguem-se duas formas de PA: a forma aguda inters-
ticial, e a forma necrosante, as quais podem apresentar vrias manifestaes locais,
que importante definir:
Coleco fluida aguda
Trata-se de uma coleco de fluido que ocorre precocemente no decurso da PA, loca-
lizada na cabea do pncreas, ou perto dela, que no evidencia estar envolta em pare-
de de granulao ou tecido fibroso. Estas coleces fluidas ocorrem em 30-50% de
situaes de PA, e na maioria dos casos resolvem espontneamente. Se persistem
durante 4-6 semanas e se tornam encapsuladas, passam a ser designadas de pseu-
doquistos.
Necrose pancretica
uma leso caracterizada pela existncia de reas focais ou difusas de parnquima
pancretico no vivel, usualmente associadas a necrose esteatsica peripancretica.
Abcesso pancretico
Trata-se de uma coleco purulenta circunscrita, que usualmente se desenvolve em
contacto com o pncreas e contm pouca necrose pancretica. Usualmente surge pelo
menos quatro semanas aps o incio da PA, ocorrendo mais tarde do que a necrose
infectada. Resulta da infeco de um pseudoquisto, ou de uma pequena rea de
necrose.
Foram abandonados os seguintes termos: pseudoquisto infectado, pancreatite
hemorrgica, PA persistente, fleimo.
PNCREAS - Pancreatite Aguda
719
A nova classificao de PA sublinha trs reas relevantes na avaliao do doente: (1)
sinais precoces de prognstico; (2) presena de insuficincia orgnica; (3) presena
de complicaes locais, particularmente de necrose pancretica.
2. PATOMORFOLOGIA
Em termos antomo-patolgicos, distinguem-se dois tipos de PA:
Pancreatite intersticial.
Caracterizada por edema intersticial e infiltrado de clulas inflamatrias no parnqui-
ma pancretico. No se detectam necrose ou hemorragia na observao macroscpi-
ca. A superfcie da glndula edemaciada evidencia pequenos focos de necrose gorda.
Pancreatite necrosante.
H evidncia macroscpica de necrose focal ou difusa no parnquima pancretico.
Observam-se tambm reas de necrose gorda, e ocasionalmente focos hemorrgicos,
na superfcie do pncreas e no tecido peripancretico. Microscopicamente, observam-
se processos de trombose, necrose e rotura. Granulcitos e macrfagos demarcam
reas de necrose, que pode envolver cinos, clulas endcrinas e ductos pancreti-
cos. No incio, o processo de necrose confina-se sobretudo na periferia da glndula,
podendo envolver, ocasionalmente, todo o parnquima pancretico.
3. ETIOLOGIA
Os factores que predispem ao desenvolvimento de processos de PA, so os seguin-
tes:
Litase.
responsvel por 30-75% de todos os casos de PA. Muitas situaes de pancreatite
presumidamente idioptica, so induzidas por microclculos no detectados pelos
mtodos imagiolgicos convencionais. A patognese da pancreatite biliar no se
encontra ainda esclarecida, postulando-se que o clculo pode condicionar o impedi-
mento do normal fluxo pancretico para o duodeno.
lcool.
Nos Estados Unidos da Amrica, considerado factor predisponente em pelo menos
30% dos casos de PA. Mais de 70% dos episdios de PA so atribudos ao lcool e
litase. O mecanismo da aco do lcool permanece obscuro: relaxamento do Oddi
Doenas do Aparelho Digestivo
720
com refluxo duodenal? Espasmo do Oddi, condicionando o refluxo de blis para o pn-
creas? Produo aumentada de substncias proteicas no suco pancretico, que funcio-
nariam como rolhes obstrutivos? Leso directa das clulas dos cidos glandulares?
Hiperlipidmia.
Computa-se que a hipertrigliceridmia causa de PA em 4% dos casos, designada-
mente em diabticos ou em alcolicos. Algumas destas situaes seriam induzidas por
frmacos (estrognios) ou por dietas que promovem o aparecimento de hipertriglice-
ridmias. Na maioria dos casos de PA relacionados com esta causa, os nveis de tri-
glicerdeos situam-se acima de 1000 mgr/dl. Desconhece-se o mecanismo patognico,
sustentando alguns autores que a libertao de cidos gordos pode lesar os cinos
pancreticos e o endotlio capilar.
Pancreatite hereditria.
um raro distrbio autossmico dominante. Recentemente foram detectadas muta-
es no gene do tripsinognio catinico, em 7q35, que impediriam a inactivao da
tripsina, decorrendo desse evento episdios repetidos de PA e pancreatite crnica.
Hiperparatiroidismo / hipercalcmia.
O hiperparatiroidismo primrio causa de menos de 0.5% de todos os casos de PA.
Em raras ocasies, a hipercalcmia motivada por outras causas, responsvel por PA,
provavelmente porque facilita a converso de tripsinognio em tripsina.
Anomalias estruturais.
So de vria ndole, podendo ocasionar quadros de PA: anomalias estruturais cong-
nitas do duodeno, por exemplo pncreas anular; anomalias adquiridas do duodeno e
da ampola de Vater; colangite esclerosante e quistos do coldoco; disfuno do
esfincter de Oddi por estenose ou disquinsia; tumores malignos ou benignos do
canal Wirsung, ou obstruo deste canal por parasitas; pancreas divisum, uma ano-
malia congnita causada pela no fuso dos segmentos ventral e dorsal do ducto pan-
cretico.
Frmacos.
So importante causa de PA, embora infrequente. Est indiscutivelmente comprovada
a aco de frmacos imunosupressores, sulfonamidas, 5-ASA, antibiticos, corticides,
furosemido, estrognios, aldomet, octretido e pentamidina.
Agentes infecciosos e toxinas.
Vrus, bactrias, fungos e parasitas tm sido responsabilizados por quadros de PA. A
toxina do escorpio e insecticidas anticolinesterase, podem induzir PA. A alergia a cer-
tos alimentos (leite, carne, batata, peixe e ovo) tambm tem sido incriminada.
Doena vascular.
Em raras ocasies, o compromisso vascular tem sido associado PA. A isqumia pan-
PNCREAS - Pancreatite Aguda
721
cretica poderia ocorrer designadamente na vasculite do lupus eritematoso, no bypass
cardiopulmonar, na ateromatose, por aco da ergotamina, etc.
PA induzida por CPRE.
O risco de PA ps-CPRE de cerca de 5%. Factores contribuintes: volume e presso
do contraste injectado, nmero de injeces no canal de Wirsung, trauma da ampola
de Vater, preenchimento exagerado dos ductos pancreticos, presena de leso no
Wirsung, introduo de bactrias, propriedades do produto de contraste utilizado,
agresso por esfincterotomia ou insero de prtese.
Pancreatite ps-operatria.
Trata-se de um tipo de PA com elevada mortalidade. Clinicamente pode ser difcil reco-
nhecer o desenvolvimento de PA aps interveno no abdmen. Factores que podem
contribuir para PA ps-operatria: frmacos (incluindo azatioprina e ciclosporina),
agentes infecciosos (incluindo o citomegalovirus), administrao per-operatria de clo-
reto de clcio e hipotenso.
Traumatismo pancretico.
Se h forte suspeita clnica de leso pancretica aps um traumatismo, ou se a TC
revela anomalias, deve realizar-se CPRE no sentido de averiguar se o canal de Wirsung
est lesado. Se est intacto, e a avaliao clnica e radiolgica no indica leses intra-
abdominais significativas, no requerido tratamento cirrgico. No entanto, se h
lacerao do Wirsung, com extravasamento de fluido pancretico, impe-se o trata-
mento cirrgico.
4. PATOFISIOLOGIA
Os resultados de pesquisas conduzidas em diferentes modelos experimentais, permi-
tem postular que o desenvolvimento de uma PA se processa em trs fases distintas:
a) Fase de iniciao
O evento inicial consistiria na activao intra-acinar do tripsinognio em tripsina acti-
va, por aco da catepsina b, uma enzima lisossmica acinar localizada, segundo se
postula, no mesmo compartimento sub-celular do tripsinognio. Esta hiptese sedu-
tora tem por base trs demonstraes: verificou-se que a co-localizao do tripsino-
gnio e da catepsina b precede as alteraes morfolgicas; que a activao do tripsi-
nognio resulta da co-localizao desta pr-enzima e da catepsina b; e que a inibio
da catepsina b previne a activao do tripsinognio. O papel central da transforma-
o intra-acinar do tripsinognio em tripsina, tem tambm a sua sustentao na recen-
Doenas do Aparelho Digestivo
722
te descoberta do mecanismo fisiopatolgico da pancreatite hereditria, com a identi-
ficao do gene responsvel no brao longo do cromossoma 7. Uma mutao detec-
tada no gene do tripsinognio catinico (ou tripsinognio 3) situado no cromossoma
7, determinaria uma resistncia auto-inactivao da tripsina e conduziria auto-
destruio do pncreas.
Apesar destes achados impressivos, defendem outros investigadores que a gerao
de enzimas activos no parnquima pancretico, no constitui, por si s, motivo para
a ecloso da PA. Outros mecanismos devem ser postulados, um dos quais, o stress
oxidativo, tem despertado muito interesse cientfico nos ltimos tempos.
Segundo esta teoria, as espcies reactivas de oxignio ou radicais livres, jogam um
papel crtico e muito precoce na patognese da PA. Estes radicais livres, provenientes
da oxidao de lipidos, seriam deletrios para a estrutura membranar acinar, cuja per-
meabilidade aumenta, da resultando o edema intersticial e importantes modificaes
ultra-estruturais. No plano funcional, a acumulao sbita de radicais livres respon-
svel por alteraes do citoesqueleto, podendo conduzir activao prematura de
pr-enzimas digestivos e de leuccitos, que contribuiriam para amplificar a inflama-
o local.
Nesta primeira fase de iniciao, jogaria tambm um papel importante a perturbao
da microcirculao, dada a grande susceptibilidade do pncreas hipxia.
b) Fase de constituio e de amplificao
Durante longos anos admitiu-se que a activao e libertao sistmica dos enzimas
pancreticos activados pela tripsina, seria o factor responsvel pelas complicaes
locais e a distncia. Nos ltimos anos, comeou a ganhar crdito o conceito da res-
posta inflamatria sistmica, uma vez que a PA partilha um certo nmero de carac-
tersticas com a sndrome inflamatria sistmica ou SIRS (systemic inflamatory respon-
se syndrome), responsvel por falncias multiorgnicas como usual observar-se nas
queimaduras severas e na sepsis. Nestes termos, tem-se atribudo um papel essencial
s citocinas e s clulas implicadas na resposta inflamatria e imunitria.
A severidade da PA parece resultar de um desequilbrio que se instala entre citocinas
pr-inflamatrias (TNF-, IL-1, IL-6, IL-8 e o factor de activao plaquetar ou FAP) e
quimoquinas como a MIP-1 e a MCP, por um lado, e citocinas anti-inflamatrias
(IL-10 e IL-11) e o nvel de expresso do seu receptor especfico, por outro lado.
A severidade da PA resultaria tambm, de acordo com estudos experimentais, da natu-
reza da resposta acinar (necrose versus apoptose) face a uma agresso. A morte por
necrose o resultado de um bloqueio irreversvel da funo mitocondrial. A clula
perde a sua integridade por falta de energia e rompe com libertao dos seus cons-
PNCREAS - Pancreatite Aguda
723
tituintes, evento que se associa a infiltrao de clulas inflamatrias. Pensa-se que a
libertao intempestiva de enzimas digestivos activados na clula acinar, ou em seu
redor, responsvel pelo desenvolvimento de necrose. Neste processo interviria de
forma importante a fosfolipase A2 em associao com outras proteases, como a elas-
tase. De facto os nveis da fosfolipase A2 esto estreitamente correlacionados com a
severidade da PA e com a presena de leses distncia (insuficincia renal e pulmo-
nar). A tripsina pode activar a libertao de quininas e contribuir para o aparecimen-
to do choque e de uma coagulopatia. O grau de isqumia presente no parnquima
pancretico inflamado e a libertao de radicais livres determinariam tambm a exten-
so da necrose.
Contrariamente necrose, a apoptose a morte celular programada, que pode parti-
cipar numa reaco de defesa. A clula apoptsica perde progressivamente a sua inte-
gridade mas no liberta os seus constituintes. Esta diferena essencial explica porque
a apoptose no se acompanha de reaco inflamatria, ao contrrio da necrose,
sendo entendido, neste sentido, que poderia constituir uma resposta favorvel da
clula face agresso. A dilucidao dos mecanismos da apoptose ainda no se
encontra esclarecida, sabendo-se que intervm nomeadamente citocinas, a favor ou
contra o desenvolvimento da apoptose. Postula-se, enfim, que durante a evoluo da
PA intervm mecanismos de defesa, de tal forma que, se a agresso moderada, essa
linha de defesa suficiente para assegurar uma reparao ad integrum do parnqui-
ma. Se ela se prolonga ou se amplifica, entra em jogo a apoptose para permitir uma
eliminao das clulas inviveis, sem ocorrncia de inflamao. Se, no entanto, a
agresso muito intensa, essa linha de defesa ultrapassada, dando lugar necro-
se e inflamao.
Importa sublinhar que as clulas inflamatrias desempenham um importante papel no
desenvolvimento da PA e suas complicaes. Desde o desencadeamento de eventos
precoces no parnquima pancretico (stress oxidativo, derrame de enzimas activos),
o pncreas liberta sinais de recrutamento de clulas inflamatrias (TNF-, MCP-1,
MOB-1), designadamente de neutrfilos. Estes aderem ao endotlio (por aumento da
expresso endotelial de molculas de adeso, ICAM-1) e acabam por penetrar profun-
damente no parnquima onde libertam os seus produtos de sntese: radicais livres,
mieloperoxidases, elastase e colagenase. Papel importante tem sido atribudo tambm
aos macrfagos, que libertariam no parnquima pancretico citocinas (TNF-, IL-1, IL-
6 e FAP) que intensificariam inflamao pancretica e contribuiriam para a amplifica-
o da resposta inflamatria sistmica. Estudos experimentais recentes evidenciam
tambm um importante efeito desempenhado pelos linfcitos T, nomeadamente CD4,
cuja actividade citotxica contribuira para a ecloso das leses tissulares da PA.
c) Fase de regenerao
So ainda mal conhecidos os mecanismos que presidem fase de regenerao aps
o episdio de PA. Uma das teorias mais advogadas recentemente a da sequncia
Doenas do Aparelho Digestivo
724
necrose-fibrose, segundo a qual a necrose aguda caracterstica da PA, seguida de
uma fase de cicatrizao, que poderia culminar na fibrose glandular, se houver produ-
o excessiva de uma matriz extra-celular. De facto, estudos experimentais, designa-
damente a produo de PA pela cerulena, permitem estudar o processo de regenera-
o do parnquima glandular, caracterizado pela proliferao transitria de fibroblas-
tos, e depois pela replicao de clulas acinares, induzida designadamente pelo TGF-
(transforming growth factor) e pelo IGF-1 (insulin-like growth factor). No entanto, nos
locais de inflamao persistente, h produo excessiva destes e de outros factores,
pelo que o processo de reparao pode consistir numa intensa formao de fibrose.
As clulas estreladas do pncreas (equivalentes s clulas de Ito no fgado), transfor-
mar-se-iam em miofibroblastos que segregariam colagnio e outras protenas da
matriz extra-celular, designadamente em presena de lcool, como foi evidenciado em
estudo recente. Este estudo estabeleceu, pela primeira vez, uma ligao directa entre
o etanol e o desenvolvimento de fibrose pancretica. Se aps a histrica reunio de
Marselha (1963) se definiram as pancreatites aguda e crnica como entidades distin-
tas, os dados experimentais recentemente acumulados apontam para a possibilidade
de episdios repetidos de PA acabarem por originar quadros de pancreatite crnica.
No quadro seguinte, procuramos sintetizar a patofisiologia da PA, luz das reflexes
expendidas.
5. EPIDEMIOLOGIA
A pancreatite aguda (PA) a doena pancretica mais comum, com uma distribuio
universal.
PNCREAS - Pancreatite Aguda
725
Doenas do Aparelho Digestivo
726
PATOLOFISIOLOGIA DA PANCREATITE AGUDA
Tripsinognio
Tripsina
Factor etiolgico
Activao de
pr-enzimas
Necrose / Apoptose
Isqumia
Citocinas
Clulas inflamatrias
(neutrfilos, macrfagos
e linfcitos T)
Reparao
ad integrum
Fase de reparao
Cronicidade
Fase de iniciao
Fase de constituio e de amplificao
Stress oxidativo
Radicais livres
Leses loco-regionais (edema, necrose, abcesso)
Leses sistmicas (rim, pulmo, choque, etc.)
As taxas de incidncia variam, sendo influenciadas pelos dois mais importantes fac-
tores etiolgicos: lcool e litase biliar.
A incidncia da PA varia entre 20 a 50 casos por 100.000 habitantes por ano. A doen-
a mais comum na USA do que na Europa.
Essa incidncia aumentou nos ltimos anos, provavelmente pela sofisticao no diag-
nstico, mas tambm pelo aumento de consumo de lcool e da incidncia de litase.
A idade mdia da PA situa-se entre os 50 e 55 anos, com limites entre 30-80 anos. A
mortalidade aumenta acima dos 60 anos.
A PA mais frequente na mulher, devido maior incidncia de litase no sexo femini-
no.
A pancreatite alcolica mais prevalente na Europa central e do norte, e na USA, ao
passo que a pancreatite biliar ocorre com mais frequncia no sul da Europa, na
Amrica do Sul e no Japo.
6. CLNICA E DIAGNSTICO
A Sintomas e sinais
Quase todos os doentes com PA experimentam dor abdominal, habitualmente difusa
no abdmen superior, embora possa estar mais localizada.
Na maioria dos casos, a dor alcana intensidade mxima em 10-20 minutos, simulan-
do por isso uma emergncia cirrgica (lcera perfurada, enfarte mesentrico).
Ocasionalmente a dor pode aumentar gradualmente de intensidade e alcanar o pico
doloroso dentro de vrias horas.
Geralmente a intensidade da dor varia entre o grau moderado e muito severo, sendo
raramente ligeira. Usualmente no varia de intensidade pela mudana de posio na
cama. geralmente descrita como dor permanente e terebrante, com discretas flutua-
es de intensidade.
Em cerca de metade dos casos, irradia directamente para a rea dorso-lombar, ou em
torno do abdmen. Persiste durante muitas horas sem aliviar. A dor que tem uma
durao de escassas horas sugere mais a clica biliar, a lcera pptica ou outras enti-
dades.
Contrariamente a noes clssicas, no existe aparentemente relao temporal entre
PNCREAS - Pancreatite Aguda
727
a ingesto de alimentos e o incio da pancreatite biliar. A mesma afirmao poder
avanar-se quanto relao entre o consumo de lcool e o aparecimento de sintomas
de PA, que podem surgir mais ou menos precocemente.
Alm da dor, o doente com PA tem frequentemente nuseas e vmitos, que podem
ser severos e durar vrias horas. O vmito usualmente no reduz a intensidade da
dor, estando relacionado com a severidade desta, ou com alteraes inflamatrias da
parede posterior do estmago.
No exame fsico podemos identificar os seguintes achados:
Na pancreatite severa, doente desorientado, agitado, com alucinaes ou mesmo
em coma.
Sinais vitais alterados: taquicardia, respirao superficial (o exsudato inflamatrio
sub-diafragmtico ocasiona dor na respirao profunda), febre, dispneia, hipoten-
so arterial.
Na pancreatite biliar usual detectar ictercia.
O exame do trax pode revelar excurso diafragmtica limitada, macicez percus-
so e diminuio auscultatria dos sons pulmonares, pela ocorrncia de derrames
pleurais.
Quase todos os doentes apresentam hipersensibilidade no abdmen superior. Na
pancreatite severa pode haver defesa abdominal, dor percusso e hiperestesia
ao toque. Pode detectar-se distenso moderada do abdmen, por leo gstrico ou
dilatao do clon transverso.
Os achados abdominais incluem a eventual observao de equimoses nos flancos
(sinal de Grey Turner) ou na regio periumbilical (sinal de Cullen), reflectindo o
extravasamento de exsudato pancretico para essas reas.
Em situaes raras possvel identificar pequenos ndulos vermelhos e dolorosos,
de 0.5-2 cm, traduzindo necrose gorda subcutnea. Localizam-se usualmente nas
extremidades distais, mas podem ocorrer noutros locais.
Os achados no exame fsico podem orientar para a causa da pancreatite. Na pan-
creatite alcolica, o fgado pode estar aumentado e na pele observam-se ocasio-
nalmente aranhas vasculares, enquanto que os xantomas so sugestivos de PA
associada a hiperlipidmia. Na pancreatite associada a hipercalcmia pode obser-
var-se uma queratopatia na margem lateral da crnea, e na PA da parotidite, as
partidas encontram-se tumefactas.
B Dados laboratoriais
Amilase
Em mltiplas sries publicadas, a amilasmia est aumentada em pelo menos 75%
das situaes de PA no incio dos sintomas e permanece elevada na maioria dos casos
Doenas do Aparelho Digestivo
728
durante 5 a 10 dias.
H vrias limitaes mensurao da amilasmia no mbito do diagnstico bioqu-
mico da PA: (1) No se encontra elevada em todos os episdios de PA, nomeadamen-
te nas exacerbaes agudas da pancreatite crnica alcolica, e nas PA associadas a
hipertrigliceridmia; (2) Ausncia de especificidade. De facto, h numerosas situaes
clnicas, no relacionadas com o pncreas, que evidenciam nveis elevados da amila-
se no soro:
Colecistite aguda e obstruo do coldoco;
Perfurao de um segmento do tubo digestivo;
Isqumia, enfarte ou obstruo intestinal;
Apendicite aguda, salpingite aguda, rotura de gravidez ectpica;
Parotidite e mordedura por escorpio;
Quisto e cancro do ovrio, cancro do pulmo;
Macroamilasmia na insuficincia renal;
Morfina, CPRE, estenose/espasmo do Oddi;
Anorexia nervosa, cetoacidose diabtica;
HIV.
Na maioria dos casos de PA, a amilasmia superior a trs vezes o padro normal
(70-300 u/l), enquanto que nas situaes acima referidas no se atinge usualmente
esse limiar. No entanto, h excepes para as duas alternativas em cotejo. Deste
modo, a aferio da amilasmia serve para suportar um diagnstico de PA, mas no
para a sua confirmao.
Apesar de alguns resultados iniciais promissores, presentemente no se confere inte-
resse clnico ao estudo da relao entre a clearance da amilase relativamente clea-
rance da creatinina. To-pouco tem interesse diagnstico o estudo das isoenzimas da
amilase no soro, bem como a anlise da relao lipase/amilase.
Pela sua normalizao mais tardia do que a da amilasmia, o doseamento urinrio da
amilase permite suspeitar de um diagnstico de PA. No entanto, com a crescente
implantao do estudo da lipasmia, a dosagem da amilasria caiu em desuso.
Lipase
Ao contrrio da amilase, a lipase quase exclusivamente sintetizada pelo pncreas.
A elevao da sua taxa srica portanto teoricamente muito especfica de agresso
pancretica. Alm disso, a sua cintica mais lenta do que a da amilase. Encontra-se
invariavelmente elevada no incio da PA, e essa elevao subsiste durante mais
tempo, relativamente hiperamilasmia.
H duas situaes clnicas no pancreticas que podem cursar com valores altos da
lipase srica: insuficincia renal e perfurao digestiva.
PNCREAS - Pancreatite Aguda
729
Uma elevao da lipasmia acima de 3-4 vezes o padro normal nas 48 horas seguin-
tes ao incio de um sndrome doloroso abdominal agudo, representaria para muitos
autores o gold standard do diagnstico de PA.
Tripsinognio tipo 2
Os tripsinognios catinicos (tipo 1) e aninico (tipo 2) so dois zimognios de ori-
gem pancretica mensurveis no soro. No decurso da PA, constata-se um aumento
preferencial do tripsinognio tipo 2, com uma inverso na relao tipo 1/tipo 2. Alm
disso, o tripsinognio de tipo 2 eliminado nas urinas. Esta propriedade foi utiliza-
da para o desenvolvimento de um teste imunocromatogrfico cuja leitura (qualitativa)
pode ser realizada em cinco minutos.
De acordo com estudos recentes, este teste teria uma acuidade comparvel (em ter-
mos de sensibilidade e de especificidade) da amilasmia, ou mesmo da lipasmia.
Este teste urinrio simples e rpido parece distinguir-se pelo seu elevado valor predi-
zente negativo (99%), ao passo que o seu valor predizente positivo no atinge os
60%. Se se confirmarem os achados iniciais, este teste poderia ser proposto nos ser-
vios de urgncia, para eliminar a hiptese de PA.
Outras enzimas
O doseamento de outras enzimas, como a elastase, a fosfolipase A2, a procarboxipep-
tidase, a protena especfica do pncreas (PASP) ou ainda a protena associada pan-
creatite (PAP), muito menos utilizado na prtica clnica, porque no evidencia supe-
rioridade diagnstica relativamente amilase ou lipase, laborioso e caro.
As dosagens enzimticas realizadas nos lquidos pleurais ou peritoneais, por aspira-
o ou lavagem, evidenciam geralmente valores muito superiores aos detectados no
soro. Este doseamento sistemtico no tem interesse, salvo nos casos raros em que
as taxas sricas so normais, subsistindo a dvida sobre a existncia de uma PA.
Testes sanguneos de rotina
A leucocitose um achado comum na PA, especialmente nos casos de infeco.
A glicmia tambm pode encontrar-se elevada, devido a um aumento da glucagina.
Podem encontrar-se elevados os nveis sanguneos das transaminases, fosfatase alca-
lina e bilirrubina. Essa elevao costuma ser mais pronunciada na pancreatite biliar
do que na pancreatite alcolica.
O doseamento da transaminase pirvica o parmetro mais frequentemente valida-
do em favor da origem biliar da PA. Valores superiores a 3 vezes o padro normal,
teriam um valor predizente positivo excelente (95%), ainda que com fraca sensibilida-
de (48%), numa meta-anlise recentemente elaborada.
Testes que reflectem severidade da PA
Elevao do hematcrito por perdas importantes
Doenas do Aparelho Digestivo
730
Leucocitose > 16.000/mm
3
Elevao sangunea do azoto ureico
Acidose metablica (por falncia circulatria)
Hipoxmia
Hipocalcmia (a hipoalbuminmia a razo principal)
C Exames imagiolgicos
Rx do abdmen sem preparao
Pode evidenciar anomalias envolvendo o estmago, o intestino delgado e o clon.
No tocante ao estmago, detecta-se por vezes deslocamento anterior deste rgo,
com separao entre os seus contornos e os do clon.
Quanto ao intestino delgado, as anomalias incluem um leo de uma ou vrias ansas
(sentinel loop), um leo envolvendo o intestino distal ou o cego, ou um leo envol-
vendo o duodeno. O duodeno descendente pode estar alargado e comprimido pelo
edema da cabea do pncreas.
No clon, clssico descrever o colon cut-off sign. Se a PA envolve predominante-
mente a cabea do pncreas, o exsudato pancretico pode alastrar ao clon transver-
so proximal, induzindo dilatao do clon ascendente. Se a inflamao pancretica
mais difusa, o exsudato infiltra o mecoclon, induzindo espasmo do transverso. Se o
exsudato provm da cauda do pncreas, estende-se pelo ligamento frnico-clico e
envolve o clon descendente, com dilatao secundria do transverso.
Outros achados do Rx simples do abdmen: litase vesicular (pancreatite biliar?), cl-
culos pancreticos (pancreatite crnica com PA), e ascite pancretica severa.
Rx do trax
Neste exame radiolgico simples, podemos encontrar alguns achados importantes:
elevao do diafragma, atelectasia, infiltrado pulmonar e derrame pleural. Durante os
primeiros 7-10 dias, pode haver evidncia de insuficincia cardaca congestiva, sndro-
me de insuficincia respiratria ou derrame pericrdico.
Ultrasonografia (US) abdominal
Trata-se de um estudo importante que deve ser realizado durante a avaliao inicial
do doente. Dados importantes que podem ser detectados: presena de litase biliar,
dilatao do coldoco e ascite. O pncreas nem sempre bem visualizado, podendo
observar-se na PA alargamento da glndula e perda dos ecos internos normais.
Outros eventuais achados: clculos pancreticos intraductais e dilatao do Wirsung.
A severidade da PA raramente pode ser definida pela US. Eventualmente esta poder
PNCREAS - Pancreatite Aguda
731
ser utilizada para monitorizar a dimenso de um pseudoquisto pancretico.
Eco-endoscopia
Uma potencial utilizao deste estudo a documentao de coledocolitase em doen-
tes com pancreatite severa motivada por clculos biliares. H evidncia de que esta
tcnica mais sensvel do que a US ou a tomografia computorizada (TC) no diagns-
tico de coledocolitase. H necessidade de mais estudos confrontando esta tcnica
com a CPRE.
Tomografia computorizada (TC)
A TC um estudo de grande valor na assistncia a doentes com PA. H trs princi-
pais indicaes da TC na PA: (1) na definio do diagnstico diferencial com situaes
intra-abdominais srias, como o enfarte mesentrico ou a lcera perfurada; (2) no
estadiamento da severidade da PA, como adiante se ver; (3) na definio da presen-
a de complicaes de PA, incluindo o envolvimento do tracto gastrointestinal, vasos
sanguneos vizinhos e rgos adjacentes (figado, bao e rim).
Mediante a realizao de TC dinmico (com administrao endovenosa de contraste
iodado), muitas vezes possvel distinguir entre pancreatite intersticial e necrosante.
A severidade da pancreatite aguda definida pela TC foi bem caracterizada por
Balthazar e Ranson. A existncia de gs virtualmente assegura a presena de infeco.
Contudo, a grande maioria das infeces pancreticas acontece com ausncia de gs
no scan da TC. A maioria dos doentes com infeco pancretica tm pancreatite de
grau E. O sistema de graduao da TC segundo Balthazar e Ranson, o seguinte:
Ressonncia magntica (RM)
No se encontra ainda suficientemente testado o valor da RM na PA. H evidncia pre-
liminar indicando que a RM proporciona essencialmente a mesma informao da TC.
Doenas do Aparelho Digestivo
732
Grau A Pncreas normal
Grau B Alargamento focal ou difuso do pncreas
Grau C Anomalias pancreticas com ligeiras alteraes inflamatrias peripancreticas
Grau D Coleco fluida num nico local
Grau E Duas ou mais coleces fluidas junto ao pncreas, ou evidncia de gs no parn-
quima ou em inflamao peripancretica
A, B Excelente
C 10% com necrose e infeco. Fatalidade rara
D, E 50% com infeco, 15% de mortalidade
CRITRIOS DE BALTHAZAR TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA
Grau Prognstico
7. DIAGNSTICO DIFERENCIAL
A pancreatite aguda deve ser distinguida de uma variedade de outras entidades asso-
ciadas a dor severa no abdmen superior. Essas entidades so as seguintes:
Clica biliar / colecistite aguda
Perfurao de vscera oca
Isqumia mesentrica
Obstruo intestinal
Enfarte inferior do miocrdio
Aneurisma dissecante
Gravidez ectpica
Salpingite / tumor do ovrio
Peritonite
Pneumonia
Na clica biliar a dor abdominal pode ser muito similar da PA. frequentemente
severa e epigstrica. Usualmente dura algumas horas, e no vrios dias.
Na lcera perfurada, a dor ocorre subitamente, e h rigidez parietal na palpao abdo-
minal. As nuseas e vmitos usualmente desaparecem com o incio da dor. O doente
permanece imvel no leito, para no agravar a situao dolorosa. A dor usualmen-
te difusa.
Na isqumia ou enfarte mesentrico, a dor geralmente surge bruscamente. Nuseas e
vmitos so frequentes. A hipersensibilidade abdominal pode ser ligeira ou modera-
da, podendo no existir rigidez muscular no pico do episdio doloroso. O diagnsti-
co suportado pela ocorrncia de diarreia ou passagem de sangue nas fezes e pelo
contexto clnico de um doente idoso com arritmia cardaca ou doena arterioescler-
tica.
Na obstruo intestinal, a dor intermitente na intensidade, a distenso abdominal
usualmente proeminente, os vmitos so persistentes podendo ser fecalides e a
peristalse hiperactiva e frequentemente audvel.
Quanto distino entre PA alcolica e biliar, importante sublinhar que a primeira
acontece mais frequentemente no homem, apresentando a maioria dos doentes
menos de 40 anos. O primeiro episdio usualmente ocorre aps 5-10 anos de consu-
mo pesado de lcool. A pancreatite biliar surge mais no sexo feminino, acontecendo
o primeiro episdio frequentemente aps os 40 anos.
PNCREAS - Pancreatite Aguda
733
8. COMPLICAES
A maioria dos doentes com pancreatite aguda tm formas ligeiras da doena, com
resoluo dos sintomas. Em 15-20% dos casos de PA, a evoluo severa, com taxa
de mortalidade significativa. A incidncia de complicaes nos episdios severos de
PA de 25%, com mortalidade de 10-50%.
Podemos dividir as complicaes da PA em locais e sistmicas:
Complicaes locais
Pseudoquisto
Abcesso
Fstula pancretica
Coleco fluida
Necrose estril ou infectada
Hemorragia pancretica
Hemorragia gastrointestinal (lcera de stress, varizes gstricas, rotura de pseudoa-
neurisma)
Obstruo ou necrose do clon
Complicaes sistmicas
Choque
Insuficincia renal necrose tubular aguda
Insuficincia respiratria (adult respiratory distress sybdrome)
Derrame pleural
Atelectasia pulmonar
Insuficincia cardiovascular
Distrbios metablicos: hipocalcmia, hiperglicmia, acidose metablica
Coagulao vascular disseminada
Encefalopatia
Necrose gorda (pele, osso, crebro)
Ocluso da artria da retina (sindrome de Purtscher)
As complicaes locais mais srias so a necrose (estril ou infectada), o pseudoquis-
to complicado de infeco e o abcesso.
A infeco na PA necrosante ocorre em 40-60% dos casos, sobretudo por bactrias
Doenas do Aparelho Digestivo
734
gram-negativas originrias do intestino uma infeco difusa de reas necrticas pan-
creticas e peripancreticas, que acontece usualmente dentro de duas semanas aps
o incio da doena, originando alta mortalidade.
O pseudoquisto uma coleco fluida que se origina a partir do pncreas, que se
forma por extravasamento de fluidos e detritos inflamatrios no tecido peripancreti-
co. A incidncia de pseudoquistos na PA, detectada por PA, de 10-20%, resolvendo-
se a maioria delas espontaneamente. Se persistem alm de oito semanas, habitual-
mente no regridem e podem complicar-se de: (1) dor abdominal; (2) presso mec-
nica e obstruo do coldoco e do duodeno; (3) infeco; (4) hemorragia; (5) rotura
no abdmen ou no trax, provocando ascite ou derrame pleural, respectivamente.
O abcesso uma coleco purulenta que ocorre 4-6 semanas aps o incio da doen-
a.
As complicaes sistmicas mais srias, que ocorrem precocemente, so o choque e
a insuficincia respiratria. O choque devido a hipovolmia, e a insuficincia respi-
ratria (adult respiratory distress syndrome) est relacionada essencialmente com a
libertao de fosfolipase A2 que lesa as clulas acinares do pulmo.
A insuficincia renal ocorre por hipotenso e necrose tubular aguda. A hiperglicmia
devida descida dos nveis de insulina e elevao na produo de glucagina. A hipo-
calcmia determinada pela hipoalbuminmia, necrose lipdica pancretica, e diminui-
o dos nveis plasmticos da hormona paratiroideia.
9. GRADUAO DA SEVERIDADE
A pancreatite aguda continua a ser uma enfermidade de fisiopatologia obscura e de
evoluo pouco previsvel. Ao lado das formas intersticiais, cuja mortalidade de
cerca de 2%, podem surgir em cerca de 20% dos casos formas necrtidas mais seve-
ras, cuja mortalidade pode atingir os 50%. A identificao precoce destas formas gra-
ves tem por objectivo optimizar a utilizao dos cuidados clnicos (seleco para uni-
dades de cuidados intensivos, ritmo de vigilncia, implementao de teraputicas
especficas), e estratificar os doentes com vista incluso em ensaios teraputicos
randomizados.
Vrios sistemas de prognstico tm sido avaliados, utilizando critrios clnicos, labo-
ratoriais e imagiolgicos. So os seguintes os sistemas mais comumente propugna-
dos para graduar a severidade da pancreatite aguda:
PNCREAS - Pancreatite Aguda
735
COMENTRIOS
O interesse clnico dos critrios de Ranson tem suscitado reservas. De facto, dado que
os parmetros individuais s so positivos em 10-20% dos doentes, essencial ava-
liar os 11 sinais para obter uma previso razovel da severidade. Por outro lado, um
score de Ranson apurado s vivel aps 48 horas de hospitalizao. Se o clnico
aguarda este perodo de tempo para distinguir entre pancreatite ligeira ou severa,
pode perder uma oportunidade para optimizar a teraputica e prevenir complicaes
nas primeiras 48 horas. Em terceiro lugar, dado que os sinais de prognstico de
Ranson tm sido validados somente nas primeiras 48 horas de hospitalizao, e no
posteriormente, no devem ser utilizados aps essas 48 horas.
B CRITRIOS DE GLASGOW MODIFICADOS (1985)
pO2 arterial < 60 mmHg
Albuminmia < 3.2 gr/dl
Calcmia < 8 mgr/dl
Leucocitose > 15.000/mm
3
SGOT > 200 U/L
LDH > 600 U/L
Glicmia > 180 mgr/dl (na ausncia de diabetes mellitus)
Urmia > 45 mgr/dl
COMENTRIOS
nico sistema avaliado prospectivamente num estudo randomizado duplamente cego.
Doenas do Aparelho Digestivo
736
A - CRITRIOS DE RANSON
lcool e outros Litase
Admisso Idade > 55 anos > 70 anos
Leuccitos > 16.000/mm
3
> 18.000/mm
3
Glicmia > 200 mgr/dl > 200 mgr/dl
LDH > 350 IU/L > 400 IU/L
SGOT > 250 IU/L > 100 IU/L
48 horas Hematcrito Queda > 10% Queda > 10%
Azoto ureico Subida > 5 mgr/dl Subida > 2 mgr/dl
Calcmia < 8 mgr% < 8 mgr%
pO2 < 60 mmHg < 60 mmHg
Dfice de bases > 4 mEq/L > 5 mEq/L
Fluido abdominal > 6 litros > 4 litros
< 3 sinais = taxa de mortalidade de 0%
3 5 sinais = taxa de mortalidade de 15%
6 sinais = taxa de mortalidade 50%
fidedigno nas pancreatites alcolica e biliar.
Trs ou mais critrios positivos indicam um quadro clnico severo.
C SISTEMA APACHE II
Temperatura
Presso arterial mdia
Ritmo cardaco
Ritmo respiratrio
Presso arterial de oxignio
pH arterial
Natrmia
Calimia
Creatinina plasmtica
Hematcrito
Leucograma
HCO3 no soro
COMENTRIOS
Trata-se de um sistema bioclnico no especfico, com uma sensibilidade e especifici-
dade no inferiores aos critrios precedentes.
A sua maior vantagem poder ser utilizado no s nas primeiras 48 horas, mas duran-
te todo o perodo de hospitalizao. Um score de menos de 9 pontos associa-se a
menos de 1% de mortalidade e 5% de complicaes.
recomendado pelo consumo de Atlanta e pelo guia americano de boa prtica clni-
ca para a avaliao individual imediata do prognstico.
D ASPIRAO E LAVAGEM PERITONEAL
Exame no fluido peritoneal de: protenas, neutrfilos, ureia, clcio, fosfatase alca-
lina, amilase, bilirrubina, cultura
Anlise da cor do fluido
Volume do aspirado
COMENTRIO
A aspirao peritoneal tem valor diagnstico em casos de dor abdominal indetermi-
PNCREAS - Pancreatite Aguda
737
nada e hiperamilasmia, sem evidncia de pancreatite.
Mtodo popularizado em Leeds, considera-se eficaz nas pancreatites alcolicas, mas
de escasso interesse nas pancreatites biliares.
Uma vantagem poder ser utilizado em qualquer momento do internamento hospita-
lar.
E OUTROS CRITRIOS
Tm sido propostos recentemente novos critrios bioqumicos de avaliao progns-
tica, ainda em fase de validao, se bem que com resultados preliminares promisso-
res:
Dosagem sangunea da elastase dos leuccitos
Doseamento srico das interleucinas 6 e 8
Estudo urinrio ou sanguneo do pptido de activao do tripsinognio (TAP)
Doseamento srico da fosfolipase A2 e da -macroglobulina
O sistema de graduao proposto por Balthazar et al, com base nos achados da tomo-
grafia computorizada, tem suscitado interesse, embora seja dispendioso pela neces-
sidade de repetio deste estudo.
A protena C reactiva encontra-se mais elevada nas pancreatites necrosantes do que
nas formas intersticiais ou edematosas. Dado que o seu pico de actividade se situa
entre as 36 e 48 horas, no recomendvel a sua mensurao no momento da admis-
so. Avaliada s 48 horas, a protena C reactiva, a sua sensibilidade no inferior aos
critrios tradicionais de Ranson e Glasgow.
10. TRATAMENTO
A Pancreatite aguda ligeira
Trata-se de uma forma de pancreatite, felizmente a mais frequente, caracterizada por
sinais precoces de prognstico favorveis e sem complicaes.
O doente deve ser hospitalizado numa instituio com requisitos tcnicos apropria-
dos, ou que estejam prximos: unidades de cuidados intensivos, de cirurgia, de gas-
trenterologia (com endoscopistas experimentados em teraputica de interveno), de
imagiologia e de bacteriologia.
O principal objectivo nesta forma de PA prodigalizar cuidados de suporte:
Reequilbrio hidro-electroltico para compensar perdas de volume intravascular
Doenas do Aparelho Digestivo
738
(vmitos, diaforese, perdas para terceiro espao). Uma folha de fluxos metablicos
muito til na avaliao do estado de hidratao e das carncias dirias.
A dor abdominal debela-se usualmente com meperidina (demerol) na dose de 50-
100 mgr i.m. cada 3-4 horas, de acordo com as necessidades. Se a dor no cede,
utilizar um agente narctico, designadamente a hidromorfona ou a morfina. No
h evidncia de que este narctico agrave o processo inflamatrio.
A sonda naso-gstrica no beneficia o doente com pancreatite ligeira. Deve utili-
zar-se, no entanto, em situaes de leo, ou de nuseas/vmitos intratveis.
Tambm no est comprovado o benefcio da administrao de inibidores H2 ou
da bomba de protes.
Relativamente antibioterapia profilctica, no existe evidncia do seu benefcio
neste tipo de pancreatite.
Na PA ligeira (usualmente edematosa ou intersticial), no se comprovou benefcio
teraputico de: nutrio parenteral, inibio das proteases (aprotidina, gabexato),
plasma fresco congelado, somatostatina, lavagem peritoneal e extratos pancreti-
cos.
Na altura da admisso, deve instituir-se um regime de jejum alimentar. A retoma
da alimentao oral pode usualmente iniciar-se entre o terceiro e o stimo dia de
hospitalizao, recomendando-se inicialmente hidratos de carbono em doses frac-
cionadas. No h necessidade de aguardar a normalizao da amilasmia para
repor a alimentao oral. S a suspeita de uma causa biliar poder retardar a rein-
troduo alimentar, para limitar o risco de recidiva de migrao litisica.
Aps a jugulao do episdio agudo, deve tentar-se definir a causa da PA, no caso
de ainda ser desconhecida.
B Pancreatite aguda severa
Ocorre em 15-20% dos casos de PA, sendo caracterizada por sinais precoces de seve-
ridade desfavorveis e desenvolvimento de complicaes. Na maioria dos casos, so
pancreatites necrosantes.
Se existem sinais precoces desfavorveis ou evidncia especfica de disfuno de
rgo, o doente deve ser transferido para uma unidade de cuidados intensivos, para
monitorizao apertada e tratamento coordenado, supervisionado por equipa multi-
disciplinar que integre gastrenterologistas, pneumologistas, cirurgies e imagiologis-
tas.
PNCREAS - Pancreatite Aguda
739
O tratamento da PA severa compreende medidas gerais de suporte e medidas espe-
cficas relacionadas com a abordagem de complicaes locais e sistmicas.
I MEDIDAS GERAIS
Reequilbrio hidro-electroltico
A ressuscitao com fluidos um componente essencial no tratamento da PA severa.
Ajuda a prevenir a hipotenso e a insuficincia renal, e pode melhorar a microcircula-
o do pncreas. A reposio de fluidos pode exigir a administrao de 5-6 litros por
dia, durante vrios dias, sendo necessrio, em certos casos, atingir os 10 litros di-
rios para manter um volume intravascular adequado.
Devem ser registados diariamente, em folha prpria, os balanos hdricos, sinais
vitais, funo renal, electrlicos e hematcrito. Quando o doente est seriamente afec-
tado, importante a utilizao de um catter central de Swan-Ganz, para monitorizar
a estabilizao hemodinmica.
Dado que se perdem grandes quantidades de protenas da circulao em consequn-
cia do processo inflamatrio retroperitoneal, aconselhvel a utilizao de colides,
sobretudo se a albuminmia desce para valores aqum de 2 gr/dl.
Estudos no animal de laboratrio evidenciaram que um hematcrito de 30% prov
uma ptima viscosidade dos glbulos vermelhos, melhorando-se desse modo a micro-
circulao pancretica. Se o hematcrito desce abaixo de 25%, devem ser infundidos
concentrados de hemcias para alcanar um valor de 30% no hematcrito.
Tratamento da dor
igual ao indicado na PA ligeira. No entanto, nas situaes de dor excruciante, pre-
fervel utilizar narcticos do tipo da morfina ou hidromorfona. Deve rever-se a medi-
cao narctica diariamente, ou, se necessrio, vrias vezes por dia.
Controlo da secreo pancretica
O jejum absoluto completado pela aspirao naso-gstrica contnua so medidas
usualmente admitidas para tantas diminuir a secreo pancretica e aliviar o leo gas-
trointestinal.
Relativamente utilizao de frmacos para reduo da secreo pancretica nas for-
mas severas de PA, no tm sido obtidos resultados consistentemente benficos com
a utilizao de bloqueadores H2, inibidores da bomba de protes, glucagina, soma-
tostatina ou o seu anlogo sinttico, o octretido.
Controlo da auto-digesto enzimtica do pncreas
Em 1953 Frey introduziu o primeiro inibidor da tripsina e da calicrana no tratamento
da PA. O inibidor de Frey, ou aprotidina, foi comercializado e utilizado em Frana, com
Doenas do Aparelho Digestivo
740
o nome de Trasylal, a partir de 1958.
Nos inmeros ensaios teraputicos at agora efectuados, a aprotidina no evidenciou
eficcia no tratamento da PA severa, qualquer que tenha sido a posologia utilizada, a
durao e o modo de administrao.
Em 1987, comeou a utilizar-se um inibidor das proteases de baixo peso molecular, o
gabexato-mesilato, no tratamento especfico da PA. Um estudo de meta-anlise efec-
tuado em 1995, no evidenciou eficcia deste produto na PA severa, em termos de
reduo da taxa de mortalidade.
Controlo da inflamao
Trata-se provavelmente do aspecto mais prometedor na teraputica da PA. Resultados
promissores tm sido registados em modelos de pancreatites experimentais, utilizan-
do antagonistas de certas citocinas (TNFa, PAF, IL10). No homem, no entanto, so
ainda escassos os ensaios efectuados, sendo de sublinhar, sobretudo, os trabalhos
recentes com o Lexipafant, um inibidor da PAF (factor de activao das plaquetas).
Num desses trabalhos, verificou-se que o Lexipafant, administrado precocemente em
perfuso endovenosa contnua, na dose diria de 100 mgr, durante sete dias, reduziu
de forma significativa a taxa de falncia multiorgnica. Esto em curso novos ensaios
para avaliao definitiva das potencialidades teraputicas deste frmaco.
Suporte nutricional
Os doentes com formas ligeiras de PA; no necessitam de nutrio artificial.
A PA severa representa uma situao de agresso grave. Nestes casos, a nutrio pre-
vine a desnutrio e permite ao organismo assegurar uma resposta metablica ao
stress.
A escolha entre nutrio enteral ou parenteral, tende a inclinar-se para a primeira
modalidade, por razes de custo e de morbilidade. No entanto, ainda no existe evi-
dncia decisiva, quanto melhor forma de prover nutrio artificial.
No se encontra ainda definido o momento mais adequado para inicial o suporte
nutricional. Se a opo for pela alimentao enteral, esta deve realizar-se mediante
colocao de sonda no jejuno, evitando o estmago e o duodeno. A nutrio paren-
teral est indicada nos doentes que no toleram a nutrio enteral.
A composio ptima dos nutrientes ainda no est bem estabelecida. No tocante
alimentao enteral, pensa-se que numa formulao contendo glutamina, aminocidos
de cadeia ramificada e lactrobacilos, seria muito benfica.
Antibioterpia profilctica
Vrios estudos clnicos controlados evidenciam o efeito benfico da profilaxia antimi-
crobiana na PA severa.
A infeco do tecido necrosado (peri) pancretico ocorre em 40-70% dos casos. As
PNCREAS - Pancreatite Aguda
741
culturas frequentemente revelam uma flora polimicrobiana, com predomnio de micro-
organismos aerbios Gramnegativos, particularmente Pseudomonas, Klebsiella,
Enterobacter e Escherichia coli sugerindo uma origem entrica.
Embora os resultados de ensaios clnicos com antibioterpia profilctica intravenosa
no sejam inequvocos, os antibiticos que asseguram uma adequada concentrao
no parnquima pancretico so as cefalosporinas de terceira gerao, a piperacilina,
as 4-quinolonas, o imipenem e o metronidazol. Estes antibiticos devem ser conside-
rados na profilaxia das complicaes infecciosas secundrias da PA severa. Uma pro-
posta teraputica seria a administrao de imipenem 500 mgr 3x dias, durante 7-14
dias, ou ciprofloxacina 400 mgr cada 12 horas + metronidazol 500 mgr 3 id durante
7-14 dias.
Dado que a infeco do tecido necrtico pode ocorrer durante a primeira semana da
doena, a antibioterapia profilctica deve ser administrada logo aps a admisso e a
estratificao da severidade, durante um perodo de 2-3 semanas.
Considerando que a PA induz proliferao bacteriana intestinal, e que as infeces
pancreticas tm provenincia intestinal, defende-se actualmente, em muitos centros
reputados, que a melhor forma de antibioterpia profilctica seria a descontamina-
o selectiva do tracto digestivo (colistina, anfotericina e norfloxacina) combinada
com a administrao de cefotaxima endovenosa.
Num trabalho clssico, publicado em 1987, Lange et al utilizaram na descontaminao
selectiva o sulfato de colistina (200 mgr), a anfotericina (500 mgr) e a norfloxacina
(50 mgr) por via oral e em enema rectal, durante um perodo mdio de 19 dias, asso-
ciando a esse regime a cefotaxima endovenosa, durante 7 dias, enquanto a descon-
taminao no era assegurada. Este regime diminuiu de forma significativa a mortali-
dade da PA severa.
A antibioterpia profilctica obrigatria na PA severa. No se encontra ainda sufi-
cientemente esclarecida a questo de saber qual a melhor forma de assegurar essa
profilaxia: via sistmica (que antibitico(s)?) ou descontaminao selectiva intestinal?
Doenas do Aparelho Digestivo
742
II TRATAMENTO DAS COMPLICAES
A Complicaes sistmicas
1 Insuficincia respiratria
A disfuno respiratria a complicao sistmica mais frequente da PA, e uma impor-
tante causa de morte precoce nos primeiros 7-10 dias. A hipoxmia ocorre frequente-
mente dentro das primeiras 48 horas, associada raramente a sinais clnicos ou ano-
malias do Rx do trax. Pode desenvolver-se mais tarde, no contexto do adult respi-
ratory distress syndrome.
A mensurao da saturao de oxignio deve realizar-se continuamente, por oximetria.
Se a saturao cai abaixo de 90%, deve realizar-se gasometria arterial, para quantifi-
car a hipoxmia e a acidose.
Se existe hipoxmia, deve administrar-se oxignio nasal ou por mscara. Se no nor-
maliza com estas medidas, deve realizar-se intubao endotraqueal ou providenciar a
ventilao assistida.
A mais sria complicao respiratria da PA a sndrome de insuficincia respiratria
que usualmente acontece entre o segundo e o stimo dia da doena, traduzida em
dispneia severa e hipoxmia progressiva. A sndrome caracterizada por aumento da
permeabilidade capilar alveolar com consequente edema intersticial. O Rx do trax
pode evidenciar infiltrados pulmonares multilobares. Esta situao requer intubao
endotraqueal e ventilao assistida. Presentemente no existe medicao especfica
que previna ou trate eficazmente esta complicao.
2 Complicaes cardiovasculares
So as complicaes sistmicas mais frequentes, a seguir insuficincia respiratria.
Podem ocorrer as seguintes complicaes: insuficincia cardaca congestiva, enfare do
miocrdio, arritmia cardaca e choque cardiognico.
A disfuno cardaca da PA severa caracteriza-se por aumento do ndice cardaco e
diminuio da resistncia vascular perifrica. Em muitos casos, a ressuscitao com
cristalides suficiente para normalizar o quadro. A administrao de colide reco-
mendvel quando a albuminmia cai abaixo de 2 gr/dl. O hematcrito deve situar-se
nos 30%, aproximadamente.
Se apesar da ressuscitao por fluidos, a hipotenso persiste, a utilizao endoveno-
sa de dopamina pode revelar-se til na manuteno de uma presso arterial adequa-
da. Os vasoconstritores no devem ser utilizados, porque deterioram a microcircula-
o pancretica.
PNCREAS - Pancreatite Aguda
743
3 Complicaes metablicas
A hipocalcmia frequente e integra os indicadores prognsticos. O clcio ionizado
baixa quando ocorre hipoalbuminmia. O clcio no ionizado ode baixar em situaes
de necrose extensa, com formao de depsitos de clcio. A hipocalcmia pode resul-
tar igualmente de distrbios hormonais relacionados com a paratiride e a calcitoni-
na. A hipomagnsimia que usualmente se associa hipocalcmia, assim como a
hipocalimia, devem ser corrigidas antes da administrao de suplementos de clcio.
As perturbaes da glicoregulao podem comportar uma hipoglicmia (usualmente
transitria), assim como hiperglicmias por resistncia insulina e hiperglucaginmia.
O tratamento desta hiperglicmias no requer insulinoterpia de forma sistemtica,
que dever ser prudentemente administrada, em caso de necessidade.
4 Complicaes renais
Podem surgir disfunes renais no decurso da PA, determinadas, pelo menos inicial-
mente pelo hipovolmia e hipotenso arterial. Esta perturbao renal pode evoluir
para a necrose tubular. A libertao de vrias substncias, designadamente a tripsina,
pode contribuir para a disfuno renal, por alteraes da perfuso e isqumia.
A correco da presso da perfuso renal e da hipovolmia essencial, antes de se
avanar, eventualmente, com teraputica diurtica ou tcnicas de suporte renal, como
a hemodilise.
O prognstico das insuficincias renais que necessitam de hemodilise particular-
mente sombrio (taxas de mortalidade > 70%), sobretudo quando associadas a faln-
cias de outros rgos.
5 Complicaes hematolgicas
Descrevem-se na PA severa quadros de coagulao vascular disseminada, em conse-
quncia, designadamente, da libertao de trisina que induz activao do complemen-
to e do sistema das lininas. Estes quadros agravam-se em caso de choque ou de com-
plicaes infecciosas sistmicas. Solicitam a administrao de plasma fresco e de
heparina (?).
6 Complicaes hepticas
A necrose heptica centro-lobular ode ser consequncia de um choque severo. A PA
pode surgir, por outro lado, em doentes com insuficincia heptica pr-existente, ou
complicar a evoluo de uma hepatite fulminante.
Doenas do Aparelho Digestivo
744
B COMPLICAES LOCAIS
1 Necrose pancretica
Ocorre em cerca de 20% dos casos de PA e deve ser suspeitada quando so desfa-
vorveis os sinais precoces de predio de severidade, quando a protena C reactiva
se encontra elevada, ou se existe evidncia de disfuno orgnica severa. O diagns-
tico pode ser confirmado por TC com contraste dinmico.
Na presena de disfuno de rgo, os doentes com necrose pancretica usualmente
requerem nutrio parenteral ou enteral durante pelo menos 2-3 semanas. Se a dis-
funo de rgo ou toxicidade sistmica persistem para alm dos 7 - 10 dias iniciais,
provvel que tenha ocorrido infeco da necrose pancretica.
De facto, a infeco pancretica deve suspeitar-se quando existe toxicidade sistmica
persistente, evidenciada pela existncia de leucocitose elevada, febre alta e falncia
de rgo no resolvida durante 7 - 10 dias. Nestas circunstncias, recomenda-se a exe-
cuo de aspirao percutnea orientada por mtodos imagiolgicos. Os fluidos aspi-
rados devem ser imediatamente enviados ao laboratrio de bacteriologia, para colo-
rao gram e cultura de bactrias aerbias e anaerbias, e fundos. a nica forma
de distinguir entre necrose pancretica estril ou infectada, no caso de no se detec-
tarem bolhas de gs no retroperitoneu, mediante a realizao de TC.
A experincia acumulada evidenciou que a maioria das infeces ocorre nos primeiros
14 dias da doena, sendo usualmente incriminados os seguintes microorganismos:
Klebsiella, E. Coli ou Staphylococcus aureus. Ocasionalmente o agente em causa a
Candida. Em mais de 80% dos casos, s um organismo isolado.
Se a aspirao percutnea evidencia a existncia de infeco pancretica, deve optar-
se pela resoluo cirrgica do processo. Na maioria das sries, a mortalidade cirrgi-
ca e inferior ou igual a 30%. Uma das complicaes da necrosectomia cirrgica o
desenvolvimento de uma fistula para a pele, ou para uma ansa intestinal. No primei-
ro caso, usualmente fecham espontneamente dentro de vrias semanas, sendo til
a administrao de octretido, para reduo da secreo pancretica. No segundo
caso, h necessidade de recorrer usualmente cirurgia.
A necrose pancretica estril, na vigncia de complicaes sistmicas, pode induzir
taxas de mortalidade entre 20-38%.
Se ocorre melhoria nas falncias de rgo e na toxicidade sistmica, deve continuar-
se a teraputica mdica, incluindo a antibioterapia e o suporte nutricional.
Se a aspirao no confirma a existncia de infeco, e no entanto no se regista
melhoria clnica, a necrose estril severa deve continuar a tratar-se medicamente
durante pelo menos 4-6 semanas, no intuito de resolver a toxicidade sistmica.
PNCREAS - Pancreatite Aguda
745
Aps este perodo de tratamento mdico intensivo, h indicao para cirurgia se per-
siste insuficincia respiratria com intubao e ventilao assistida, se existe compres-
so do estmago com nusea intratvel impedindo a alimentao oral, ou se h dor
recorrente severa sempre que se tenta a alimentao oral. No momento do acto cirr-
gico, muitos cirurgies colocam uma sonda no jejuno, para eliminar a necessidade de
alimentao parenteral.
2 Pseudo-quisto pancretico
O pseudo-quisto assintomtico deve ser tratado medicamente, seja qual for a sua
dimenso, e submetido a exames ecogrficos peridicos (pelo menos de 6 em 6
meses). No existem actualmente medidas dietticas, nutricionais ou farmacolgicas
que reduzam o fluxo do suco pancretico na tentativa de diminuir a dimenso do
pseudo-quisto.
Se o pseudo-quisto sintomtico (dor abdominal, arrepios, febre), deve ser tratado
por cirurgia, teraputica imagiolgica ou teraputica endoscpica.
Cirurgia.
A estratgia cirrgica depende da dimenso, caractersticas e localizao do pseu-
do-quisto, optando-se pela derivao interna ou pela resseco. A mortalidade da
cirurgia inferior a 6%. H aproximadamente 15% dos casos com recidiva aps
anastomose interna. muito til a realizao pr-operatria de CRE, para defini-
o da estratgia cirrgica.
Teraputica imagiolgica.
A drenagem percutnea com apoio imagiolgico tem-se revelado eficaz no trata-
mento de pseudo-quistos estreis e infectados. A drenagem por catter deve ser
continuada at que o dbito de fluido diminua para 5-10 ml/dia. Essa reduo pode
ser muito beneficiada com a administrao de octretido, numa dose de 50-
200 mg cada 8 horas, por via subcutnea. Aqui tambm recomendada a execu-
o prvia de CPRE, para averiguar se no existe obstruo no wirsung, situao
que no favorece a drenagem percutnea.
Teraputica endoscpica.
A descompresso do pseudo-quisto pode realizar-se por cisto-gastrostomia ou
cisto-duodenostomia endoscpica, com colocao de endoprtese entre o quisto
e a vscera oca. Uma outra alternativa endoscpica consiste na insero de uma
prtese atravs da ampola de Vater, que conduzida atravs do wirsung para o
pseudo-quisto, aps verificao da existncia dessa continuidade. Em qualquer
destas modalidades de teraputica endoscpica, se o quisto fechar aps 3-4 sema-
nas (comprovao por TC), a endoprtese deve ser removida. A mais importante
Doenas do Aparelho Digestivo
746
complicao da teraputica endoscpica a hemorragia. A segunda complicao
a infeco.
3 Abcesso pancretico
Usualmente ocorre 4-6 semanas aps o incio da PA e consiste numa coleco puru-
lenta junto ao pncreas. A TC evidencia uma massa de baixa densidade, de limites
imprecisos e por vezes com bolhas gasosas. A drenagem percutnea ou a drenagem
cirrgica so as opes teraputicas. Esta ltima opo mais vantajosa.
III INDICAES DA CIRURGIA
a) Pancreatite biliar.
A impactao de clculos na amola de Vater pode determinar quadros de pancreatite
aguda biliar, com risco de desenvolvimento de colangite e sepsis. No passado, a cirur-
gia de emergncia era a atitude teraputica mais consensual, associada no entanto a
mortalidade elevada sobretudo em doentes de alto risco.
Actualmente, aps os resultados obtidos em estudos randomizados e prospectivos,
defende-se como atitude teraputica prioritria a realizao de esfincterotomia endos-
cpica com remoo dos clculos da via biliar principal. Com este mtodo, diminui-se
significativamente a taxa de morbilidade e de mortalidade da cirurgia.
b) Infeco/sepsis na pancreatite necrosante.
Ver consideraes expendidas no texto.
c) Abcesso pancretico.
d) Complicaes de pseudo-quisto (obstruo, disseco, infeco, rotura com derra-
me pleural e ascite). Ver consideraes j expendidas.
11. PROGNSTICO
Na maioria das sries de doentes hospitalizados, a mortalidade da PA situa-se entre
5 e 10%. A mortalidade da pancreatite intersticial rara (perto dos 0%), enquanto que
na pancreatite necrosante atinge, em mdia, os 10% nas formas estreis, e os 30%
na necrose infectada.
PNCREAS - Pancreatite Aguda
747
A taxa de mortalidade aumenta nos doentes que apresentam sinais precoces de prog-
nstico desfavorveis, falncia de rgo e complicaes locais, sobretudo necrose
pancretica. O doente idoso tem maior risco de mortalidade, pela ocorrncia de doen-
as associadas.
A grande maioria dos casos de morte ocorre no primeiro ou no segundo episdio
agudo. A etiologia desempenha tambm um papel importante. De facto, enquanto que
as pancreatites alcolica e biliar tm uma taxa mdia de mortalidade aproximada
(cerca de 5%), essa taxa mais elevada nas pancreatites ps-operatrias e idiopti-
cas.
Doenas do Aparelho Digestivo
748
PNCREAS - Pancreatite Aguda
749
REFERNCIAS
Banks PA. Acute and chronic pancreatitis. In: Felman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Ed). Sleisenger & Fordtrans Gastrointestinal and
Liver Disease. W.B. Saunder Co 1998:809-862.
Seinberg WM. Management of acute pancreatitis. In: Wolfe MM (Ed). Therapy of Digestive Disorders. W.B. Saunders Co. 2000:227-234.
Springer J, Steinhart H. Acute pancreatitis: prognosis and treatment. In: McDonald J, Burroughs A, Feagan B (Ed). Evidence based
Gastroenterology and Hepatology. BMJ Books 1999:271-293.
Acute Pancreatitis (Part 4). In: Beger HG, Warshaw AL, Bchler MD et al (Eds). The Pancreas. Blackwell Science 1998:275-664.
Steer ML. Pathophysiology of acute pancreatitis. In: Friedman G, Jacobson ED, McCallum RW (Eds). Gastrointestinal Pharmacology &
Therapeutics. Lippincott-Raven 1997:541-548.
Tenner S, Banks P. Treatment of acute pancreatitis. In: Friedman G, Jacobson ED, McCallum RW (Eds). Gastrointestinal Pharmacology &
Therapeutics. Lippincott-Raven 1997:559-564.
Testoni A, Tittobello A (Eds). Endoscopy in pancreatic disease. Mosby-Wolfe, 1997.
Freitas D. Pancreatite aguda. In: Freitas D (Ed). Temas de Gastrenterologia (2 vol.) 1986:281-314.
Pitchumoni CS, Bordalo O. Evaluation of hypotheses on pathogenesis of alcoholic pancreatitis. Am J Gastroenterol 1996;91(4):637-647.
Ayer MK, Burdick JS, Sonnenberg A. Outcome of surgical and endoscopic management of biliary pancreatitis. Dig Dis Sci 1999;44(8):1684-1690.
Maldonado MR, Valente AI, Palma R et al. A infeco na pancreatite aguda. GE J Port Gastroenterol 2001;8(1):19-26.
Baron TH. Predicting the severity of acute pancreatitis: is it time to concentrate on the hematocrit? Am J Gastroenterol. 2001 Jul;96(7):1960-1.
Gloor B, Muller CA, Worni M, Martignoni ME, Uhl W, Buchler MW. Late mortality in patients with severe acute pancreatitis. Br J Surg. 2001
Jul;88(7):975-9.
Platell C, Cooper D, Hall JC. A meta-analysis of peritoneal lavage for acute pancreatitis. J Gastroenterol Hepatol. 2001 Jun;16(6):689-93.
Aparicio JR, Viedma JA, Aparisi L, Navarro S, Martinez J, Perez-Mateo M. Usefulness of carbohydrate-deficient transferrin and trypsin activity
in the diagnosis of acute alcoholic pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2001 Jun;96(6):1777-81.
Barkun AN. Early endoscopic management of acute gallstone pancreatitisan evidence-based review. J Gastrointest Surg. 2001 May-
Jun;5(3):243-50.
Rosch T, Mayr P, Kassem MA. Endoscopic ultrasonography in acute biliary pancreatitis. J Gastrointest Surg. 2001 May-Jun;5(3):223-8.
Kimura W, Fuse A, Usuba O, Mizutani M, Matsukura A, Makuuchi M. Drainage for acute pancreatitis. Hepatogastroenterology. 2001 Mar-
Apr;48(38):434-6.
McGregor CS, Marshall JC. Enteral feeding in acute pancreatitis: just do it. Curr Opin Crit Care. 2001 Apr;7(2):89-91.
Segal I, Charalambides D, Becker P, Ally R. Case control study of environmental factors in the etiology of the first attack of acute
pancreatitis: a pilot study. Int J Pancreatol. 2000 Dec;28(3):169-73.
Sanabria A. Randomized controlled trial of the effect of early enteral nutrition on markers of the inflammatory response in predicted severe
acute pancreatitis. Br J Surg. 2001 May;88(5):728.
Braganza JM. Towards a novel treatment strategy for acute pancreatitis. 2. Principles and potential practice. Digestion. 2001;63(3):143-62.
Kemppainen E, Mayer J, Puolakkainen P, Raraty M, Slavin J, Neoptolemos JP. Plasma trypsinogen activation peptide in patients with acute
pancreatitis. Br J Surg. 2001 May;88(5):679-80.
Eckerwall G, Andersson R. Early enteral nutrition in severe acute pancreatitis: a way of providing nutrients, gut barrier protection,
immunomodulation, or all of them? Scand J Gastroenterol. 2001 May;36(5):449-58.
Cavallini G, Frulloni L. Somatostatin and octreotide in acute pancreatitis: the never-ending story. Dig Liver Dis. 2001 Mar;33(2):192-201.
Lankisch PG, Struckmann K, Assmus C, Lehnick D, Maisonneuve P, Lowenfels AB. Do we need a computed tomography examination in all
patients with acute pancreatitis within 72 h after admission to hospital for the detection of pancreatic necrosis? Scand J Gastroenterol.
2001 Apr;36(4):432-6.
Nordback I, Sand J, Saaristo R, Paajanen H. Early treatment with antibiotics reduces the need for surgery in acute necrotizing
pancreatitisa single-center randomized study. J Gastrointest Surg. 2001 Mar-Apr;5(2):113-8; discussion 118-20.
Mosca S. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography and acute biliary pancreatitis: time for a divorce? Endoscopy. 2001 Apr;33(4):382.
Pezzilli R, Miglioli M. Multicentre comparative study of two schedules of gabexate mesilate in the treatment of acute pancreatitis. Italian
Acute Pancreatitis Study Group. Dig Liver Dis. 2001 Jan-Feb;33(1):49-57.
Bradley EL 3rd. Gabexate mesilate in acute pancreatitis: miracle or mirage? Dig Liver Dis. 2001 Jan-Feb;33(1):12-3.
Pezzilli R, Morselli-Labate AM, dAlessandro A, Barakat B. Time-course and clinical value of the urine trypsinogen-2 dipstick test in acute
pancreatitis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Mar;13(3):269-74.
Tandon M, Topazian M. Endoscopic ultrasound in idiopathic acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2001 Mar;96(3):705-9.
Abou-Assi S, OKeefe SJ. Nutrition in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 2001 Mar;32(3):203-9.
Beckingham IJ, Bornman PC. ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system. Acute pancreatitis. BMJ. 2001 Mar 10;322(7286):595-8.
Hedstrom J, Kemppainen E, Andersen J, Jokela H, Puolakkainen P, Stenman UH. A comparison of serum trypsinogen-2 and trypsin-2-alpha1-
antitrypsin complex with lipase and amylase in the diagnosis and assessment of severity in the early phase of acute pancreatitis.
Am J Gastroenterol. 2001 Feb;96(2):424-30.
Paran H, Mayo A, Paran D, Neufeld D, Shwartz I, Zissin R, Singer P, Kaplan O, Skornik Y, Freund U. Octreotide treatment in patients with
severe acute pancreatitis. Dig Dis Sci. 2000 Nov;45(11):2247-51.
Jakobs R, Adamek MU, von Bubnoff AC, Riemann JF. Buprenorphine or procaine for pain relief in acute pancreatitis. A prospective randomized
study. Scand J Gastroenterol. 2000 Dec;35(12):1319-23.
Juvonen PO, Alhava EM, Takala JA. Gut permeability in patients with acute pancreatitis. Scand J Gastroenterol. 2000 Dec;35(12):1314-8.
Mandi Y, Farkas G, Takacs T, Boda K, Lonovics J. Diagnostic relevance of procalcitonin, IL-6, and sICAM-1 in the prediction of infected
necrosis in acute pancreatitis. Int J Pancreatol. 2000 Aug;28(1):41-9.
Eatock FC, Brombacher GD, Steven A, Imrie CW, McKay CJ, Carter R. Nasogastric feeding in severe acute pancreatitis may be practical and
safe. Int J Pancreatol. 2000 Aug;28(1):23-9.
Somogyi L, Martin SP, Venkatesan T, Ulrich CD 2nd. Recurrent acute pancreatitis: an algorithmic approach to identification and elimination
of inciting factors. Gastroenterology. 2001 Feb;120(3):708-17.
Sharma VK, Howden CW. Prophylactic antibiotic administration reduces sepsis and mortality in acute necrotizing pancreatitis: a meta-analysis.
Pancreas. 2001 Jan;22(1):28-31.
Poves I, Fabregat J, Biondo S, Jorba R, Borobia FG, Llado L, Figueras J, Jaurrieta E. Results of treatment in severe acute pancreatitis. Rev Esp
Enferm Dig. 2000 Sep;92(9):586-94.
Eland IA, Sturkenboom MJ, Wilson JH, Stricker BH. Incidence and mortality of acute pancreatitis between 1985 and 1995. Scand J
Gastroenterol. 2000 Oct;35(10):1110-6.
Buchler MW, Gloor B, Muller CA, Friess H, Seiler CA, Uhl W. Acute necrotizing pancreatitis: treatment strategy according to the status of
infection. Ann Surg. 2000 Nov;232(5):619-26.
Doenas do Aparelho Digestivo
750
Mogyorosi A, Schubert ML. Peritoneal dialysis: an under-appreciated cause of acute pancreatitis. Gastroenterology. 2000 Nov;119(5):1407-8.
Fonseca Chebli JM, Duarte Gaburri P, et al. Idiopathic acute pancreatitis due to biliary sludge: prevention of relapses by endoscopic
biliary sphincterotomy in high-risk patients. Am J Gastroenterol. 2000 Oct;95(10):3008-9.
Halonen KI, Leppaniemi AK, Puolakkainen PA, Lundin JE, Kemppainen EA, Hietaranta AJ, Haapiainen RK. Severe acute pancreatitis:
prognostic factors in 270 consecutive patients. Pancreas. 2000 Oct;21(3):266-71.
Megibow AJ, Ralls PW, Balfe DM, Bree RL, et al. Acute pancreatitis. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria. Radiology.
2000 Jun;215 Suppl:203-7.
Imrie CW, McKay CJ. The possible role of platelet-activating factor antagonist therapy in the management of severe acute pancreatitis.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Jul;13(2):357-64.
Guillou PJ. Enteral versus parenteral nutrition in acute pancreatitis. Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Jul;13(2):345-55.
Nitsche R, Folsch UR. Role of ERCP and endoscopic sphincterotomy in acute pancreatitis. Baillieres
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Jul;13(2):331-43.
Luiten EJ, Bruining HA. Antimicrobial prophylaxis in acute pancreatitis: selective decontamination versus antibiotics.
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol. 1999 Jul;13(2):317-30.
Gloor B, Uhl W, Buchler MW. Changing concepts in the surgical management of acute pancreatitis. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 1999 Jul;13(2):303-15.
Isenmann R, Beger HG.Natural history of acute pancreatitis and the role of infection. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 1999 Jul;13(2):291-301.
Brady M, Christmas S, Sutton R, Neoptolemos J, Slavin J. Cytokines and acute pancreatitis. Baillieres Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 1999 Jul;13(2):265-89.
Mayer JM, Rau B, Siech M, Beger HG. Local and systemic zymogen activation in human acute pancreatitis. Digestion. 2000;62(2-3):164-70.
Chen HM, Chen JC, Hwang TL, Jan YY, Chen MF. Prospective and randomized study of gabexate mesilate for the treatment of severe acute
pancreatitis with organ dysfunction. Hepatogastroenterology. 2000 Jul-Aug;47(34):1147-50.
Mayer J, Rau B, Gansauge F, Beger HG. Inflammatory mediators in human acute pancreatitis: clinical and pathophysiological implications.
Gut. 2000 Oct;47(4):546-52.
Hirota M, Nozawa F, Okabe A, et al. Relationship between plasma cytokine concentration and multiple organ failure in patients with acute
pancreatitis. Pancreas. 2000 Aug;21(2):141-6.
Frossard JL, Sosa-Valencia L, Amouyal G, Marty O, Hadengue A, Amouyal P. Usefulness of endoscopic ultrasonography in patients with
idiopathic acute pancreatitis. Am J Med. 2000 Aug 15;109(3):196-200.
Brivet FG. Scoring systems and severe acute pancreatitis. Crit Care Med. 2000 Aug;28(8):3124-5.
Abu-Zidan FM, Bonham MJ, Windsor JA. Severity of acute pancreatitis: a multivariate analysis of oxidative stress markers and modified
Glasgow criteria. Br J Surg. 2000 Aug;87(8):1019-23.
Gumaste V. Prophylactic antibiotic therapy in the management of acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 2000 Jul;31(1):6-10.
Ertan A. Long-term results after endoscopic pancreatic stent placement without pancreatic papillotomy in acute recurrent pancreatitis due
to pancreas divisum. Gastrointest Endosc. 2000 Jul;52(1):9-14.
Pezzilli R, Melzi dEril GV, Morselli-Labate AM, Merlini G, Barakat B, Bosoni T.
Serum amyloid A, procalcitonin, and C-reactive protein in early assessment of severity of acute pancreatitis. Dig Dis Sci. 2000
Jun;45(6):1072-8.
Sakorafas GH, Tsiotou AG. Etiology and pathogenesis of acute pancreatitis: current concepts. J Clin Gastroenterol. 2000 Jun;30(4):343-56.
Lerch MM, Gorelick FS. Early trypsinogen activation in acute pancreatitis. Med Clin North Am. 2000 May;84(3):549-63.
Whitcomb DC. Genetic predispositions to acute and chronic pancreatitis. Med Clin North Am. 2000 May;84(3):531-47.
Pelli H, Sand J, Laippala P, Nordback I. Long-term follow-up after the first episode of acute alcoholic pancreatitis: time course and risk factors
for recurrence. Scand J Gastroenterol. 2000 May;35(5):552-5.
Neoptolemos JP, Kemppainen EA, Mayer JM, et al. Early prediction of severity in acute pancreatitis by urinary trypsinogen activation peptide:
a multicentre study. Lancet. 2000 Jun 3;355(9219):1955-60.
Windsor JA. Search for prognostic markers for acute pancreatitis. Lancet. 2000 Jun 3;355(9219):1924-5.
Lankisch PG, Pflichthofer D, Lehnick D. No strict correlation between necrosis and organ failure in acute pancreatitis.
Pancreas. 2000 Apr;20(3):319-22.
Kawa S, Mukawa K, Kiyosawa K. Hypocalcemia <7.5 mg/dl: early predictive marker for multisystem organ failure in severe acute necrotizing
pancreatitis, proposed by the study analyzing post-ERCP pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2000 Apr;95(4):1096-7.
Lankisch PG, Struckmann K, Lehnick D. Presence and extent of extrapancreatic fluid collections are indicators of severe acute pancreatitis.
Int J Pancreatol. 1999 Dec;26(3):131-6.
Beger HG, Gansauge F, Mayer JM. The role of immunocytes in acute and chronic pancreatitis: when friends turn into enemies.
Gastroenterology. 2000 Mar;118(3):626-9.
Bhatia M, Brady M, Shokuhi S, Christmas S, Neoptolemos JP, Slavin J. Inflammatory mediators in acute pancreatitis. J Pathol. 2000
Feb;190(2):117-25.
Kalfarentzos FE, Kehagias J, Kakkos SK, Petsas T, Kokkinis K, Gogos CA, Androulakis JA. Treatment of patients with severe acute necrotizing
pancreatitis based on prospective evaluation. Hepatogastroenterology. 1999 Nov-Dec;46(30):3249-56.
Lankisch PG, Assmus C, Pflichthofer D, Struckmann K, Lehnick D. Which etiology causes the most severe acute pancreatitis? Int J
Pancreatol. 1999 Oct;26(2):55-7.
Mayer J, Rau B, Schoenberg MH, Beger HG. Mechanism and role of trypsinogen activation in acute pancreatitis. Hepatogastroenterology.
1999 Sep-Oct;46(29):2757-63.
Schulz HU, Niederau C, Klonowski-Stumpe H, Halangk W, Luthen R, Lippert H. Oxidative stress in acute pancreatitis.
Hepatogastroenterology. 1999 Sep-Oct;46(29):2736-50.
Nevalainen TJ, Hietaranta AJ, Gronroos JM. Phospholipase A2 in acute pancreatitis: new biochemical and pathological aspects.
Hepatogastroenterology. 1999 Sep-Oct;46(29):2731-5.
Enns R, Baillie J. Review article: the treatment of acute biliary pancreatitis. Aliment Pharmacol Ther. 1999 Nov;13(11):1379-89.
Sharma VK, Howden CW. Metaanalysis of randomized controlled trials of endoscopic retrograde cholangiography and endoscopic
sphincterotomy for the treatment of acute biliary pancreatitis. Am J Gastroenterol. 1999 Nov;94(11):3211-4.
Beger HG, Isenmann R. Diagnosis, objective assessment of severity, and management of acute pancreatitis. Santorini Consensus Conference.
Int J Pancreatol. 1999 Aug;26(1):1-2.
De Bernardinis M, Violi V, Roncoroni L, Boselli AS, Giunta A, Peracchia A. Discriminant power and information content of Ransons prognostic
signs in acute pancreatitis: a meta-analytic study. Crit Care Med. 1999 Oct;27(10):2272-83.
Lankisch PG, Pflichthofer D, Lehnick D. Acute pancreatitis: which patient is most at risk? Pancreas. 1999 Nov;19(4):321-4.
Maes B, Hastier P, Buckley MJ, et al. Extensive aetiological investigations in acute pancreatitis: results of a 1-year prospective study. Eur J
Gastroenterol Hepatol. 1999 Aug;11(8):891-6.
Pezzilli R, Morselli-Labate AM, Miniero R, Barakat B, Fiocchi M, Cappelletti O. Simultaneous serum assays of lipase and interleukin-6 for
early diagnosis and prognosis of acute pancreatitis. Clin Chem. 1999 Oct;45(10):1762-7.
Jakobs R, Riemann JF. The role of endoscopy in acute recurrent and chronic pancreatitis and pancreatic cancer.
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):783-800.
Scolapio JS, Malhi-Chowla N, Ukleja A. Nutrition supplementation in patients with acute and chronic pancreatitis.
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):695-707.
Buchler P, Reber HA. Surgical approach in patients with acute pancreatitis. Is infected or sterile necrosis an indicationin whom should
this be done, when, and why? Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):661-71.
Ratschko M, Fenner T, Lankisch PG. The role of antibiotic prophylaxis in the treatment of acute pancreatitis.
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):641-59.
Mergener K, Baillie J. Endoscopic treatment for acute biliary pancreatitis. When and in whom?
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):601-13.
Imrie CW, McKay CJ. The scientific basis of medical therapy of acute pancreatitis. Could it work, and is there a role for lexipafant?
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):591-9.
Bank S, Indaram A. Causes of acute and recurrent pancreatitis. Clinical considerations and clues to diagnosis.
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):571-89.
Eland IA, van Puijenbroek EP, Sturkenboom MJ, Wilson JH, Stricker BH. Drug-associated acute pancreatitis: twenty-one years of spontaneous
reporting in The Netherlands. Am J Gastroenterol. 1999 Sep;94(9):2417-22.
Norton ID, Petersen BT. Interventional treatment of acute and chronic pancreatitis. Endoscopic procedures.
Surg Clin North Am. 1999 Aug;79(4):895-911.
Karne S, Gorelick FS. Etiopathogenesis of acute pancreatitis. Surg Clin North Am. 1999 Aug;79(4):699-710.
Isenmann R, Rau B, Beger HG. Bacterial infection and extent of necrosis are determinants of organ failure in patients with acute necrotizing
pancreatitis. Br J Surg. 1999 Aug;86(8):1020-4.
Dervenis C, Johnson CD, Bassi C, Bradley E, Imrie CW, McMahon MJ, Modlin I. Diagnosis, objective assessment of severity, and management
of acute pancreatitis. Santorini consensus conference. Int J Pancreatol. 1999 Jun;25(3):195-210.
Whitcomb DC. Hereditary pancreatitis: new insights into acute and chronic pancreatitis. Gut. 1999 Sep;45(3):317-22.
Morris-Stiff GJ, Bowrey DJ, Oleesky D, Davies M, Clark GW, Puntis MC. The antioxidant profiles of patients with recurrent acute and chronic
pancreatitis. Am J Gastroenterol. 1999 Aug;94(8):2135-40.
Basterra G, Alvarez M, Marcaide A, Delgado E, Diaz de Otazu R, Garcia Campos F. Acute pancreatitis: evaluation of the prognostic criteria
of the latest Balthazar tomographic classification. Rev Esp Enferm Dig. 1999 Jun;91(6):433-8.
Brisinda G, Maria G, Ferrante A, Civello IM. Evaluation of prognostic factors in patients with acute pancreatitis.
Hepatogastroenterology. 1999 May-Jun;46(27):1990-7.
Karakoyunlar O, Sivrel E, Tanir N, Denecli AG. High dose octreotide in the management of acute pancreatitis.
Hepatogastroenterology. 1999 May-Jun;46(27):1968-72.
Martinez J, Sanchez-Paya J, Palazon JM, Aparicio JR, Pico A, Perez-Mateo M. Obesity: a prognostic factor of severity in acute pancreatitis.
Pancreas. 1999 Jul;19(1):15-20.
Schmid SW, Uhl W, Friess H, Malfertheiner P, Buchler MW. The role of infection in acute pancreatitis. Gut. 1999 Aug;45(2):311-6.
Uhl W, Buchler MW, Malfertheiner P, Beger HG, Adler G, Gaus W. A randomised, double blind, multicentre trial of octreotide in moderate to
severe acute pancreatitis. Gut. 1999 Jul;45(1):97-104.
Acheson AG. Can we ever be certain of the diagnosis of acute pancreatitis? Gut. 1999 May;44(5):765.
Andrulli A, Perri F, Annese V. Guidelines for treatment of acute pancreatitis. Gut. 1999 Apr;44(4):579-80.
Williams M, Simms HH. Prognostic usefulness of scoring systems in critically ill patients with severe acute pancreatitis.
Crit Care Med. 1999 May;27(5):901-7.
Pezzilli R, Billi P, Barakat B, DImperio N, Miglio F. Ultrasonographic evaluation of the common bile duct in biliary acute pancreatitis
patients: comparison with endoscopic retrograde cholangiopancreatography. J Ultrasound Med. 1999 Jun;18(6):391-4.
Lecesne R, Taourel P, Bret PM, Atri M, Reinhold C. Acute pancreatitis: interobserver agreement and correlation of CT and MR
cholangiopancreatography with outcome. Radiology. 1999 Jun;211(3):727-35.
Gupta R, Toh SK, Johnson CD. Early ERCP is an essential part of the management of all cases of acute pancreatitis. Ann R Coll Surg Engl.
1999 Jan;81(1):46-50.
Baron TH, Morgan DE. Acute necrotizing pancreatitis. N Engl J Med. 1999 May 6;340(18):1412-7.
Himal HS. Role of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in early acute biliary pancreatitis. Surg Endosc. 1999 May;13(5):541.
Schmid RM, Adler G. Cytokines in acute pancreatitisnew pathophysiological concepts evolve. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999
Feb;11(2):125-7.
Lankisch PG, Burchard-Reckert S, Lehnick D. Underestimation of acute pancreatitis: patients with only a small increase in amylase/lipase
levels can also have or develop severe acute pancreatitis. Gut. 1999 Apr;44(4):542-4.
Norman JG. New approaches to acute pancreatitis: role of inflammatory mediators. Digestion. 1999;60 Suppl 1:57-60.
Schoenberg MH, Rau B, Beger HG. New approaches in surgical management of severe acute pancreatitis. Digestion. 1999;60 Suppl 1:22-6.
Yokoi H, Naganuma T, Higashiguchi T, Isaji S, Kawarada Y. Prospective study of a protocol for selection of treatment of acute pancreatitis
based on scoring of severity. Digestion. 1999;60 Suppl 1:14-8.
Chen CC, Wang SS, Lee FY, Chang FY, Lee SD. Proinflammatory cytokines in early assessment of the prognosis of acute pancreatitis.
Am J Gastroenterol. 1999 Jan;94(1):213-8.
PNCREAS - Pancreatite Aguda
751
Doenas do Aparelho Digestivo
PNCREAS - Pancreatite Crnica
753
SECO VI - PNCREAS
CAPTULO XXXVI
PANCREATITE CRNICA
1. Definio e Classificao
2. Epidemiologia
3. Etiopatogenia
4. Clnica
5. Diagnstico
6. Diagnstico Diferencial
7. Tratamento
8. Prognstico
753
Doenas do Aparelho Digestivo
1. DEFINIO E CLASSIFICAO
A pancreatite crnica (PC) tem sido definida como uma doena inflamatria contnua
da glndula pancretica, caracterizada por alteraes morfolgicas irreversveis que
tipicamente causam dor e/ou perda permanente da funo.
Esta definio revela-se til para, numa perspectiva geral, separar a PC da pancreati-
te aguda (PA). No entanto, torna-se difcil distinguir os efeitos da PA e da PC com base
exclusiva em critrios clnicos num limitado espao de tempo. Contrariamente opi-
nio tradicional, defendem alguns autores que certas formas de PA podem evoluir
para PC, e que esta nem sempre progressiva.
Uma classificao ideal da PC deveria ser simples, objectiva, fivel e relativamente no
invasiva, incorporando etiologia, patognese, estrutura, funo e estado clnico num
esquema geral. Este sistema classificativo ainda no foi conseguido. Numa confern-
cia de consenso recente, concluiu-se que a PC continua a revelar-se um processo
enigmtico no tocante patognese, de evoluo clnica imprevisvel e de tratamen-
to no claro.
A classificao de Marselha, de 1963, revista em 1984 e 1988, e a classificao de
Cambridge, de 1984, so tentativas muito vlidas de classificao da PC, ainda que
com vrias limitaes. Em 1988 foi proposta a classificao de Marselha Roma, que
continua a suscitar reservas mas apesar disso tem sido geralmente admitida, at que
surja uma proposta de classificao mais convincente.
De acordo com esta classificao consideram-se trs subtipos de PC:
PANCREATITE CRNICA CALCIFICANTE.
a mais frequente, caracterizada por fibrose parenquimatosa espordica, associada a
rolhos proteicos e clculos intraductais, e leso dos ductos pancreticos. Alm do
lcool, o principal agente etiolgico deste tipo de PC, apontam-se outras causas: here-
ditariedade, PC tropical, hiperlipoproteinmia, hipercalcmia, drogas e PC idioptica.
PANCREATITE CRNICA OBSTRUTIVA.
Resulta de uma obstruo do canal de Wirsung, e caracterizada por dilatao uni-
forme dos ductos com atrofia e eventual substituio das clulas acinares por tecido
fibroso. Este subgrupo usualmente causado por um tumor intraductal do pncreas
e menos frequentemente por uma estenose benigna (litase, trauma). Defendem
alguns autores que o pncreas divisum poder originar este tipo de PC.
PANCREATITE CRNICA INFLAMATRIA.
um subgrupo caracterizado por fibrose, infiltrado de clulas mononucleares e atro-
fia. Est associado a doenas auto-imunes, designadamente sindrome de Sjgren,
a colangite esclerosante primria e cirrose biliar primria.
PNCREAS - Pancreatite Crnica
755
2. EPIDEMIOLOGIA
As taxas de incidncia, prevalncia e manifestaes da PC que tm sido reportadas
subestimam o real espectro desta doena.
Em sries clssicas de Copenhague, dos Estados Unidos e do Mxico, reportaram-se
incidncias similares de cerca de 4 por 100.000 habitantes/ano, e prevalncia na
ordem dos 13 por 100.000 habitantes/ano.
Alteraes subsequentes no consumo mundial de lcool e o crescente apuro nos tes-
tes de diagnstico, levaram a concluir que existem muito mais doentes com PC do
que inicialmente previsto.
Por exemplo, num recente estudo no Japo, em que 68% dos doentes com PC foram
diagnosticados por tomografia computorizada (TC) ou por colangiopancreatografia
retrgrada endoscpica (CPRE), ou por outras tcnicas sofisticadas, apurou-se uma
prevalncia global de 45.4 por 100.000 em homens, e de 12.4 por 100.000 em mulhe-
res.
3. ETIOPATOGENIA
Recentes avanos na gentica e na tecnologia permitiram novas possibilidades de
identificao fivel e precoce de factores de risco na gnese da pancreatite crnica
(PC).
Com raras excepes, a etiologia exacta da maioria dos casos de PC ainda no est
completamente dilucidada. Por exemplo, o excessivo consumo de lcool no ocasio-
na, s por si, PC no animal de experincia ou no homem. Outros factores, genticos
ou ambientais, tm de existir para que se desenvolva um processo de PC.
O sistema de classificao TIGAR-O, que se apresenta no quadro seguinte, lista os fac-
tores de risco etiolgico associados PC, agrupando-os de acordo com o factor mais
fortemente associado doena, num dado doente:
Doenas do Aparelho Digestivo
756
COMENTRIOS
A FACTORES TXICO-METABLICOS
LCOOL.
a causa dominante da PC nos pases industrializados. O consumo de lcool prece-
de a doena em 55-80% dos doentes com PC. Esse consumo foi estimado em 144
79 gr de etanol/dia, durante 19 anos, em Marselha; 150 89 gr/dia durante 17 anos na
Europa e frica do Sul ; e 397 286 gr/dia durante 21 anos no Brasil.
S cerca de 10% dos indivduos com consumo excessivo de lcool desenvolvem qua-
dros de PC. Reclama-se, por isso que outros factores associados, de ordem gentica
ou ambiental, determinam a ecloso do processo. O lcool constituiria um co-factor.
Trs possveis mecanismos so invocados na patofisiologia da PC associada ao lcool:
A ingesto crnica de lcool induziria hipersecreo de suco pancretico rico em
protenas. Estas precipitariam nos ductos pancreticos, formando rolhos obstruti-
vos que constituiriam, por outro lado, focos de precipitao de carbonato de cl-
cio, com formao de clculos.
O lcool, ou um dos seus metabolitos, teria um efeito agressivo directo na gln-
dula pancretica, designadamente originando diminuio da capacidade de inibi-
o da tripsina, aumento de secreo de enzimas lisossmicos, depsitos de gor-
dura e alteraes metablicas no complexo de Golgi. Por outro lado, o acetaldei-
PNCREAS - Pancreatite Crnica
757
lcool
Tabaco
Hipercalcmia
Hiperlipidmia
Frmacos e Txicos
Incio precoce
Incio tardio
Tropical
Outras
Autossmica dominante: tripsinognio
catinico (29,1229)
Autossmica recessiva: mutaes CFTR,
SPINK1, Tripsinognio catinico (16,22,23),
deficincia em 1-antitripsina
FACTORES DE RISCO ETIOLGICO ASSOCIADOS PANCREATITE CRNICA:
CLASSIFICAO TIGAR-O
CAUSA TXICO-METABLICA CAUSA AUTO-IMUNE
CAUSA GENTICA PANCREATITE AGUDA RECORRENTE E SEVERA
CAUSA IDIOPTICA
CAUSA OBSTRUTIVA
PC auto-imune isolada
PC associada a doenas auto-imunes: sndrome
de Sjogren, DII, cirrose biliar primria
Obstruo do Wirsung (tumor)
Estenoses dos ductos pancreticos (ltiase,
trauma)
Pancreas divisum
Distrbios do enfincter de Oddi (?)
Quistos peri-ampulares
do, por si s, poderia lesar o pncreas.
Uma terceira hiptese defende que a PC resultaria de episdios severos de pan-
creatite aguda associados a necrose e a fibrose.
CONSUMO DE TABACO.
Deve ser considerado um factor de risco independente no desenvolvimento da PC. O
mecanismo desconhecido, sendo no entanto de sublinhar que o tabaco inibe a
secreo de bicarbonato pelo pncreas, e reduz a capacidade da tripsina e os nveis
de 1-antitripsina.
HIPERCALCMIA.
Est comprovada a relao entre o hiperparatiroidismo familiar e a PC.
HIPERLIPIDMIA.
Embora possa induzir quadros de pancreatite aguda, ainda controverso o seu papel
na PC.
FRMACOS E TOXINAS.
fenacetina foi atribuida uma aco lesiva pancretica, provavelmente por originar
insuficincia renal De facto, esta situao associa-se a aumento da frequncia da PA
e da PC. Relativamente aco de toxinas, raras tm sido as identificadas na gnese
da PC.
B PANCREATITE CRNICA IDIOPTICA
PC IDIOPTICA DE INCIO PRECOCE OU TARDIO.
A idade de incio da PC idioptica bimodal. No primeiro caso, as calcificaes e a
insuficincia excrina e endcrina desenvolvem-se lentamente, sendo a dor mais seve-
ra. No segundo caso, a dor pode estar ausente em 50% das situaes, sendo a evo-
luo mais rpida. Recentemente foram descobertas mutaes SPINK 1 em cerca de
25% de doentes com PC idioptica.
PC TROPICAL.
um tipo de PC idioptica que ocorre em regies tropicais, envolvendo duas formas
de apresentao. Um subgrupo apresenta quadros de PC calcificante, com dores seve-
ras na infncia e sinais de insuficincia pancretica sem diabetes; e um outro subgru-
po evidencia um quadro de diabetes fibrocalculosa pancretica, sendo aqui a diabe-
tes o sintoma principal. A dieta no responsvel por estes quadros. Factores gen-
ticos podero estar em jogo.
C PREDISPOSIO GENTICA
Doenas do Aparelho Digestivo
758
Em 1952, Confort et al. demonstraram uma predisposio gentica para a PC nalgu-
mas famlias. Em 1996, descobriu-se que mutaes no gene do tripsinognio catini-
co (PRSS1) esto na origem da pancreatite hereditria. Por outro lado, o reconheci-
mento de frequentes mutaes CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regu-
lator), originando a fibrose qustica, e de mutaes no inibidor da tripsina pancreti-
ca (SPINK 1 serine protease inhibitor, Kazal type 1), em doentes com PC idioptica,
comprovaram a importncia de factores genticos na patognese da PC.
Acredita-se que anlises moleculares e genticas sero futuramente muito importan-
tes na avaliao da doena pancretica, pelas seguintes razes: 1) a identificao de
mutaes chave em genes associados pancreatite, facultar informaes importan-
tes quanto ao risco de desenvolvimento de uma pancreatite; 2) a deteco de muta-
es possibilitar o diagnstico precoce da doena pancretica; 3) a identificao de
mutaes ajudar a determinar a etiologia da pancreatite e a elaborar uma classifica-
o racional; 4) a classificao molecular das leses pancreticas ajudar a clarificar
padres de progresso e prognstico da doena; 5) a identificao de mutaes espe-
cficas concorrer para a compreenso das interaces entre os factores genticos e
ambientais; 6) o conhecimento das consequncias funcionais do defeito gentico
poder propiciar o desenvolvimento de novas intervenes teraputicas; 7) finalmen-
te, a identificao de uma mutao gentica j importante para muitos doentes, no
sentido de saberem porque tm pancreatite, ajudando alm disso a familia a planear
decises.
D PANCREATITE CRNICA AUTO-IMUNE
A PC auto-imune representa um processo distinto de pancreatite crnica. O seu diag-
nstico importante porque se pensa que responde bem corticoterpia oral.
A PC auto-imune tem caractersticas histolgicas, morfolgicas e clnicas peculiares.
Pode surgir isoladamente, ou associada sindrome de Sjgren, cirrose biliar prim-
ria, colangite primria esclerosante e doena inflamatria intestinal.
Recentemente foi reportado o perfil dos auto-anticorpos neste tipo de PC, registando-
se a deteco de mltiplos auto-anticorpos em todos os doentes identificados,
incluindo os anticorpos antinucleares, antilactoferrina, anti-anidrase carbnica II, fac-
tor reumatide e anticorpos anti-msculo liso.
E PANCREATITE CRNICA OBSTRUTIVA
Trata-se de uma forma morfologicamente distinta de PC, caracterizada por dilatao
PNCREAS - Pancreatite Crnica
759
ductular proximal a uma obstruo, atrofia das clulas acinares e fibrose difusa.
Dentre as vrias entidades associadas a este tipo de PC, incluem-se: sequelas de pan-
creatite aguda, trauma, tumor, pncreas divisum e disfuno do esfincter de Oddi.
Na disfuno do Oddi distinguem-se duas entidades: a estenose e a disquinsia. Cerca
de 60% de doentes com pancreatite idioptica recorrente evidenciaram anomalias
manomtricas consistentes com disfuno do esfncter de Oddi. Trata-se de uma
importante rea de investigao. Seja qual for a origem dessa disfuno, a esfincte-
roplastia ou a esfincterotomia endoscpica oferecem alvio sintomtico em alguns
doentes.
F PANCREATITE AGUDA SEVERA E RECORRENTE
Ainda que historicamente controversa, a associao ente a PA recorrente e a PC foi
estabelecida com base em cuidadosos estudos clinico-patolgicos, argumentos ana-
tomopatolgicos, ensaios experimentais no animal de laboratrio e na pancreatite
hereditria. Esta inicia-se sob a forma de PA recorrente.
Estudos clnicos evidenciaram que nem sempre completa a recuperao de uma PA.
Um subgrupo de doentes com PA alcolica e recorrente desenvolve quadros de PC.
Tambm, ainda que raramente, episdios recorrentes de PA, motivados por hiperlipi-
dmia, podem culminar em PC.
4. CLNICA
A PC varivel na sua apresentao clnica. til dividir essa apresentao em qua-
dro estdios:
ESTDIO I
Trata-se de um estdio pr-clinico, em que o doente no evidencia sintomas da doen-
a, no entanto podem ser visveis alteraes caractersticas de pancreatite na TC ou
na pancreatografia endoscpica.
ESTDIO II
Na apresentao inicial, ocorrem episdios agudos de pancreatite, que podem ser
confundidos com uma simples PA. A severidade da recorrncia pode ser ligeira ou
severa. Neste estdio, podem surgir complicaes. A doena tende a evoluir de epi-
sdios dolorosos intermitentes para dor moderada contnua, que pode induzir perda
de peso. Esta fase pode durar anos. medida que o tempo passa, as recidivas tor-
nam-se menos severas. Ocasionalmente a doena progride, e o pncreas torna-se
Doenas do Aparelho Digestivo
760
atrfico e no funcionante.
ESTDIO III
O doente desenvolve sintomas contnuos, sendo a dor a maior sequela. Nesta fase,
pode tornar-se dependente de narcticos, e evidencia sinais de insuficincia excrina
e endcrina.
ESTDIO IV
o ltimo estdio da doena, com atrofia do pncreas, deficincia excrina e end-
crina, surgindo esteatorreia, perda de peso e diabetes mellitus. Nesta fase no acon-
tecem episdios agudos, mas as complicaes do processo podem ser dominantes.
A dor, a perda de peso, a insuficincia excrina, a insuficincia endcrina e as com-
plicaes caracterizam clinicamente a doena.
DOR.
Um dos sintomas mais caractersticos da PC a dor crnica intermitente. medida
que a doena progride, a dor pode tornar-se contnua ou intermitente, mas ocorre dia-
riamente, impedindo a alimentao, o sono e o repouso. Para alguns doentes, o recur-
so ao lcool a nica forma de lidarem com este sintoma.
A dor profunda, localizada entre o epigastro e o umbigo. Em cerca de 50% dos
casos, irradia em torno da cintura do doente, para o dorso ou para o ombro esquer-
do. Ocasionalmente a dor agravada com os alimentos. Pode aliviar na posio sen-
tada ou com a postura pancretica, com flexo do dorso. difcil distinguir a dor
da PC da dor motivada por lcera pptica.
A dor da PC pode resultar da infiltrao inflamatria e compresso de filetes nervo-
sos, ou da obstruo dos ductos por clculos.
A dor muito severa pode ocorrer em doentes com alteraes estruturais mnimas no
pncreas. Pode haver confuso com a dor biliar. Por outro lado, a avaliao da seve-
ridade da dor da PC pode ser difcil, dado que alguns doentes tm uma personalida-
de instvel. Muitos esto dependentes do lcool ou de drogas, podendo viciar o rigor
da avaliao.
PERDA DE PESO.
Em cerca de 75% dos doentes com PC ocorre emagrecimento varivel, devido reduo
na ingesto de alimentos, dado que precipitam ou agravam a dor. O doente pode ema-
grecer durante um episdio doloroso, recuperando mais tarde no perodo de remisso.
Menos frequentemente, a perda de peso resulta de m absoro consequente insu-
ficincia pancretica . Uma situao de diabetes mal controlada poder tambm, ainda
que raramente, contribuir para a perda de peso.
PNCREAS - Pancreatite Crnica
761
Doenas do Aparelho Digestivo
762
INSUFICINCIA EXCRINA.
Os sinais comuns de m digesto e perda de peso, a atrofia muscular, a carncia vita-
mnica e a esteatorreia. Est caracterizada pelo aumento na frequncia, peso e volu-
me das fezes, que se apresentam gordurosas e com mau cheiro.
A insuficincia excrina um sinal tardio, sendo necessria uma reduo superior a
90% na secreo da lipase para surgir a esteatorreia. Mesmo assim, a digesto de
hidratos de carbono no se encontra afectada,e a creatorreia um evento raro na PC.
DEFICINCIA ENDCRINA.
No tem uma evoluo paralela insuficincia excrina. Cerca de 20% dos doentes
no desenvolvem diabetes mellitus, apesar de uma longa histria de PC sintomtica.
Cerca de metade dos doentes com insuficincia endcrina podem ser equilibrados
pela dieta e depois por antidiabticos orais. A maioria dos doentes necessitam de
insulina s nos ltimos estdios da doena. A diabetes, contudo, um sinal tpico da
pancreatite tropical no alcolica.
COMPLICAES.
Mais de metade dos doentes com PC experimentam complicaes na evoluo do pro-
cesso. O aspecto mais caracterstico associado ao desenvolvimento de uma complica-
o, o aumento da severidade da dor. Neste caso, h necessidade de procurar a
eventual ocorrncia de uma complicao. As complicaes da PC so as seguintes:
5. DIAGNSTICO
O diagnstico de pancreatite crnica pode ser feito por critrios histolgicos ou mor-
folgicos, ou pela combinao da clnica, e dos achados morfolgicos e funcionais.
PSEUDOQUISTO
Obstruo duodenal Vmito, emagrecimento, dor
Estenose do ducto biliar Ictercia, dor contnua, clica
Trombose da veia esplnica Hipertenso portal segmentar
Abcesso - Febre, sepsis
Perfurao para estmago/intestino Cura espontnea
Perfurao para cavidade abdominal Ascite
Eroso de artria Hemorragia, choque
MASSA INFLAMATRIA DA CABEA DO PNCREAS
Obstruo duodenal Vmito, emagrecimento, dor
Estenose do ducto biliar Ictercia, dor contnua, clica
ESTENOSE/ OCLUSO DO WIRSUNG
Insuficincia de secreo M digesto
Atrofia pancretica M digesto
Hipertenso ductal Dor
CARCINOMA PANCRETICO
COMPLICAES INTRA-PANCRETICAS DA PC
Complicao Clnica
As anomalias funcionais, por si s, no so diagnsticas de PC porque estes testes
no distinguem entre PC e insuficincia pancretica sem pancreatite.
O diagnstico de PC severa com extensas calcificaes e dilataes dos ductos, sim-
ples. A dificuldade ocorre no diagnstico de doentes com alteraes precoces, ligei-
ras ou mnimas de pancreatite, nos que apresentam dor pancretica isolada, nos que
tiveram recentemente um episdio de pancreatite aguda, e nas situaes de diagns-
tico diferencial com o cancro do pncreas.
O teste gold standard seria a bipsia pancretica. No entanto, esta tcnica no se
realiza por rotina, por ser considerada agressiva, embora as taxas de complicao se
situem entre 0.8-1.1%.
Na prtica clnica, aps a obteno de uma apurada histria clnica, utilizam-se usual-
mente os seguintes mtodos de diagnstico:
A- TESTES QUE ESTUDAM A ESTRUTURA
RX DO ABDMEN SEM PREPARAO.
Revela calcificaes pancreticas em 25-60% de casos de PC, assegurando desse
modo o diagnstico da doena. A presena de clculos pode no significar a existn-
cia de insuficincia excrina ou endcrina severa.
ULTRA-SONOGRAFIA (US).
considerado um mtodo de screening, com as seguintes vantagens: no invasivo,
no utiliza radiaes, barato e relativamente acessvel.
Pode detectar caractersticas morfolgicas de PC: lobulao nos bordos da glndu-
la, dilatao e irregularidade do canal Wirsung, heterogeneidade do parnquima
glandular, quisto(s) dentro da glndula, ou adjacente, calcificaes.
Tem limitaes determinadas por trs ordens de factores: a obesidade prejudica a
viso, bem como a presena de gases intestinais, alm de ser um mtodo depen-
dente da experincia do operador.
TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA (TC).
Tem a vantagem de poder ser standardizada, visualizando integralmente o pncreas
em virtualmente todos os exames. O problema real da TC reside no seu poder de reso-
luo inferior ao da US, da CPRE e da Eco-endoscopia. o exame mais sensvel para
detectar calcificaes, apurado na deteco da dilatao do Wirsung e pode definir
o contorno irregular da glndula. No entanto, fraca a sua capacidade na definio
de alteraes mnimas do parnquima ou dos ductos pancreticos. Deste modo,
nunca deve ser eliminada a hiptese de PC com base num estudo tomogrfico nor-
mal.
PNCREAS - Pancreatite Crnica
763
CPRE.
o exame estrutural mais universalmente utilizado na pancreatite crnica. De acordo
com os critrios de Cambridge, propostos em 1984, consideram-se cinco graus na defi-
nio de um pancreatograma obtido por CPRE:
Normal
Equvoco: < 3 ramos ductulares anormais.
Ligeiro: > 3 ramos ductulares anormais.
Moderado: canal de Wirsung anormal + > 3 ramos colaterais anormais.
Severo: canal de Wirsung anormal, > 3 ramos colaterais anormais, + um ou mais
dos seguintes achados: dilatao qustica, obstruo do Wirsung, defeitos de
preenchimento do Wirsung, dilatao severa ou irregularidade.
H vrios problemas com a CPRE no diagnstico da PC:
um exame invasivo e apresenta uma taxa de risco de pancreatite aguda entre 3-7%.
A opacificao inadequada dos ductos, sobretudo os secundrios, ocorre em pelo
menos 30% dos casos, comprometendo a definio das formas precoces de PC
(Cambridge I e II).
Estenoses ou clculos podem bloquear o canal de Wirsung e impedir a opacifica-
o completa.
um exame dispendioso.
Tem a vantagem de permitir teraputica endoscpica e a avaliao de estenose papi-
lar (mediante manometria do esfincter de Oddi).
ECO-ENDOSCOPIA.
provavelmente o melhor mtodo para estudar a PC, no momento actual, desde que
executado por um operador experiente. Tem a vantagem de poder utilizar transduto-
res de elevada frequncia, e de ser posicionado no lmen gastrointestinal eliminan-
do-se desse modo o obstculo que os gases intestinais representam. presentemen-
te o nico mtodo que permite examinar o parnquima pancretico em detalhe fino.
De acordo com os critrios de Lees-1996, os achados eco-endoscpicos de PC so os
seguintes:
DUCTOS:
Irregularidade nas paredes dos ductos.
Ecogenicidade da parede dos ductos
Clculos intraluminais
Dilatao do canal de Wirsung
Disrupo do Wirsung com formao de quistos.
Doenas do Aparelho Digestivo
764
Visualizao de colaterais no corpo e na cauda.
PARNQUIMA:
Ausncia de homogeneidade
Focos ecognicos fortes
Acentuao da arquitectura lobular
Quistos/cavidades
Aumento da glndula.
A Eco-endoscopia tem a vantagem, sobre a US e a TC, de poder definir formas ligei-
ras de PC. A US e a TC so teis no diagnstico das formas avanadas de PC.
CPRM.
A colangiopancreatografia por ressonncia magntica a ltima conquista tecnolgi-
ca no estudo das alteraes estruturais da PC. Tem, sobre a CPRE e a Eco-endosco-
pia, a vantagem de ser um exame no invasivo. Nos estudos comparativos com a
CPRE, revelou possuir menor sensibilidade, designadamente no tocante visualizao
dos ductos colaterais secundrios, pelo que pode no detectar formas ligeiras de PC.
Para aumentar a sua capacidade de resoluo, alguns autores associam esta tcnica
prova da secretina, agente que torna o sistema ductal pancretico mais proeminen-
te. Outro avano tcnico consiste na possibilidade de reconstruo tridimensional das
imagens obtidas. Trata-se de uma tcnica promissora, se bem que ainda no suficien-
temente avaliada no estudo da PC.
B- TESTES QUE ESTUDAM A FUNO
Com o advento dos mtodos de imagem, o papel dos estudos funcionais no diagns-
tico da PC tornou-se complementar, no podendo competir com os exames imagiol-
gicos pelas razes seguintes:
A manifestao clnica da insuficincia pancretica usualmente um evento tardio
no decurso da PC, quando > 90% do tecido glandular deixou de funcionar.
O teste da funo pancretica mais sensvel e apurado prova da secretina /cole-
cistoquinina , metodologicamente complicado e demorado, e o seu valor diag-
nstico no superior ao da CPRE.
Os testes no invasivos do estudo da funo pancretica, facultam informao
diagnstica vlida nos estdios avanados da PC, mas no evidenciam apuro sufi-
ciente nas formas ligeiras desta enfermidade.
No quadro seguinte, indicam-se os testes actualmente existentes para o estudo da
funo pancretica, anotando-se, de acordo com Malfertheiner et al. a respectiva sen-
sibilidade e especificidade:
PNCREAS - Pancreatite Crnica
765
6. DIAGNSTICO DIFERENCIAL
O diagnstico diferencial de pancreatite crnica deve fazer-se sobretudo com as
seguintes entidades:
lcera pptica
Doena do tracto biliar
Doenas do Aparelho Digestivo
766
Doena vascular mesentrica
Cancro do estmago
Tumor do pncreas
7. TRATAMENTO
Os doentes com PC geralmente procuram cuidados mdicos por um dos sintomas car-
dinais da doena ou por complicaes. Os sintomas tipicamente referidos so, como
j foi acentuado, a dor abdominal, a diarreia (esteatorreia), perda de peso e sintomas
de diabetes mellitus (poliria, polidipsia). As complicaes da doena incluem o pseu-
doquisto, a obstruo do coldoco, a obstruo duodenal, a fistula do ducto pancre-
FUNO EXCRINA % %
I - INVASIVOS
Intubao com aspirao Secretina-colecistoquinina 90 > 90
duodenal ou cerulena
Estimulao indirecta Teste de Lundh 70-90 > 80
II - NO-INVASIVOS
Testes orais Pancreolauryl teste 70-85 75
NBT-PABA teste 70-80 75
Testes nas fezes Quimotripsina fecal 60-80 70
Elastase fecal
Nvel enzimtico srico ou Isoamilase pancretica
Lipase pancretica 30-40 > 90
FUNO ENDCRINA
Polipeptdeo pancretico Basal 30
Ps-secretina 70-80 80
Insulina Basal ? ?
Glucagina Ps-arginina 70-80
Tolerncia glicose Rastreio de diabetes
TESTES DE FUNO PANCRETICA
Sensibilidade Especificidade
tico, a trombose da veia esplnica, distrbios da motilidade, carcinoma pancretico e
complicaes associadas ao abuso de lcool.
Os objectivos teraputicos incluem a eliminao dos sintomas, a melhoria na qualida-
de de vida, a deteco e tratamento de complicaes e o cuidado em evitar compli-
caes relacionados com a teraputica.
A TRATAMENTO DA DOR
A dor o sintoma mais comummente referido. O seu tratamento eficaz requer uma
investigao cuidada relativamente sua origem. De facto, os doentes com PC tm
muitas possveis causas de dor, de forma que a teraputica deste sintoma deve ser
individualizada. No quadro seguinte, explicitam-se as causas da dor na PC e as poten-
ciais teraputicas para a sua jugulao:
COMENTRIOS:
A) OPES TEAPUTICAS MDICAS
A cessao na ingesto de lcool reduz substancialmente a dor. O abuso de lcool
acelera a progresso da doena e reduz a sobrevida. A abstinncia alcolica deve
acompanhar-se de eliminao do tabaco.
PNCREAS - Pancreatite Crnica
767
Inflamao aguda num quadro de PC Analgsicos
Abstinncia alcolica
Supresso da secreo pancretica
Inflamao neural e perineural Analgsicos
Bloqueio do plexo celaco
Esplancnicectomia
Desinervao/resseco cirrgica
Presso elevada no pncreas Analgsicos
ou sistema ductal Abstinncia alcolica
Supresso da secreo
Descompresso cirrgica dos ductos
endoscpica dos ductos
Resseco cirrgica
Pseudoquisto do pncreas Drenagem cirrgica, endoscpica ou percutnea
Obstruo duodenal Bypass cirrgico
Obstruo do coldoco Descompresso cirrgica ou endoscpica
Enfarte esplnico Esplenectomia
Gastroparsia Procinticos
Carcinoma Resseco cirrgica
Bloqueio do plexo celaco
CAUSAS DA DOR NA PANCREATITE CRNICA (PC)
Causa Teraputica potencial
A analgesia frequentemente requerida, devendo ser prescritos, inicialmente, frma-
cos no narcticos (AINEs, acetaminofeno). Muitos doentes necessitam de agentes
narcticos, devendo ser facultados em primeiro lugar os menos potentes (por ex. tra-
madol). Em muitos casos h necessidade de prescrever narcticos potentes, havendo
um risco de dependncia na ordem dos 25%. A associao de um antidepressivo tri-
cclico (que pode moderar a hiperalgesia visceral e aumentar o efeito do narctico),
ou a adio de gabapentim (para moderar a hiperalgesia visceral), so medidas ben-
ficas.
Outras medidas teraputicas convencionais a administrao de enzimas pancreti-
cas, que teriam a propriedade de reduzir a secreo pancretica. As doses de enzimas
convencionais devem ser elevadas (designadamente oito cpsulas a cada refeio e
ao deitar), e acompanhadas de frenao da secreo gstrica com inibidores da
bomba de protes. A teraputica enzimtica especialmente recomendada em doen-
tes com afectao dos pequenos ductos, sendo menos eficaz em doentes com leso
dos grandes ductos.
O octretido, um anlogo da hormona somatostatina, inibe a secreo pancretica e
diminui os nveis de CCK. Num estudo recente, este frmaco, administrado na dose
de 200 mg por via subcutnea, trs vezes por dia, revelou-se superior ao placebo.
So necessrios mais estudos para confirmao desse benefcio.
A ablao do plexo celaco por via imagiolgica ou eco-endoscpica parece melhorar
a dor em 25-75% dos doentes. No entanto, os resultados a distncia so desaponta-
dores.
B) TERAPUTICA ENDOSCPICA
A esfincterotomia endoscpica do ducto pancretico com ou sem colocao de uma
endoprtese e extraco dos clculos do Wirsung, uma tcnica teraputica cada vez
mais utilizada na vigncia de estenose ou litase do ducto pancretico. Em mos expe-
rimentadas, a taxa de sucesso tcnico superior a 90%, e a melhoria da dor ocorre
em mais de 60%. No entanto, h que no olvidar as complicaes eventuais do mto-
do (hemorragia, colangite, migrao ou obturao da prtese), e a recorrncia da dor
em percentagens variveis.
Recentemente surgiram na literatura registos de outro tipo de complicaes, traduzi-
das em leso dos ductos pancreticos motivada pela prtese, bem como leses
parenquimatosas documentadas em eco-endoscopia. Apesar destas reservas, defende-
se que a esfincterotomia endoscpica teoricamente til em doente com estenose
preponderante do Wirsung ou com litase que impede o fluxo pancretico. No momen-
to actual, difcil avaliar a real eficcia deste mtodo, tendo em conta que no exis-
tem estudos randomizados e que a resposta dor com administrao de placebo atin-
Doenas do Aparelho Digestivo
768
ge, nestes doentes, cifras de 35-40%.
C) TERAPUTICA CIRRGICA
As opes cirrgicas para o tratamento da dor incluem mtodos de drenagem ou a
resseco pancretica (mtodo de Puestow modificado). Com este ltimo mtodo,
vrias sries evidenciam alvio da dor no ps-operatrio imediato, em 70-80% dos
doentes, com bons resultados a longo prazo na casa dos 50%. A descompresso cirr-
gica tem piores resultados.
B TRATAMENTO DA INSUFICINCIA EXCRINA
Os sintomas de m digesto so usualmente corrigidos ou melhorados com a admi-
nistrao de preparados enzimticos pancreticos, em altas doses. Para prevenir a
degradao da lipase pelo cido clordrico, prescrevem-se concomitantemente inibido-
res H2 ou da bomba de protes. O controlo da diarreia e da perda de peso so mais
facilmente logrados do que o controlo total da esteatorreia.
C TRATAMENTO DA DEFICINCIA ENDCRINA
Ao contrrio da diabetes mellitus de tipo I, muitos doentes com PC tm uma inade-
quada secreo de insulina e inadequadas reservas de glucagina. Podem, por isso,
fazer crises graves de hipoglicmia quando so tratados com insulinoterpia. No pre-
tender um controlo muito rigoroso da glicmia, uma medida cautelar. A dose de
insulina, nestes doentes, usualmente mais baixa do que na diabetes tipo II, devi-
do inexistncia de resistncia insulina. Nalguns doentes possvel controlar a dia-
betes com agentes antidiabticos orais. Nos doentes com diabetes e hipertriglicerid-
mia, o controlo desta s eficaz quando se consegue normalizar a glicmia, median-
te insulinoterpia.
D TRATAMENTO DAS COMPLICAES
PSEUDOQUISTO
Nem todos os pseudoquistos requerem tratamento. o caso dos pseudoquistos com
menos de 5-6 cm de dimetro, assintomticos, os quais devem ser controlados perio-
dicamente por US. Os pseudoquistos maiores ou sintomticos, usualmente exigem tra-
tamento.
PNCREAS - Pancreatite Crnica
769
A opo teraputica depende das dimenses e da localizao da formao, da incer-
teza quanto natureza benigna do pseudoquisto e da experincia local. A descom-
presso cirrgica muito eficaz e tem bons resultados a longo prazo. Em centros com
experincia, a drenagem percutnea e a descompresso endoscpica so alternativas
teraputicas vlidas. Estas tcnicas eliminam os pseudoquistos em mais de 90% dos
casos, no entanto a recidiva tardia relativamente elevada.
OBSTRUO DO COLDOCO
Ocorre em cerca de 30% dos doentes com PC, embora s em 5-10% se refiram sinto-
mas de dor biliar, colestase ou colangite. As obstrues sintomticas requerem des-
compresso cirrgica ou endoscpica. A descompresso endoscpica com colocao
de endoprtese um tratamento til a curto prazo, particularmente em situaes de
colangite.
OUTRAS COMPLICAES
Ver quadro inserido nesta lio
8. PROGNSTICO
O prognstico da PC alcolica em geral desfavorvel. A maioria dos doentes ainda
experimentam dor aps mais de 10 anos da doena. Em geral, a cirurgia pancretica
resultou em alvio da dor por perodos variveis. A qualidade de vida destes doentes
m, com desemprego e reformas precoces frequentes. No doente com PC alcolica,
h uma reduo significativa na sobrevida relacionada com o lcool, o tabaco, a cir-
rose, o carcinoma do pncreas e a idade avanada no momento do diagnstico.
Menos de 25% das mortes so devidas directamente pancreatite.
Em geral, o prognstico da PC idioptica menos sombrio do que o da PC alcolica.
A expectativa de vida mais longa. O prognstico da pancreatite tropical tambm
mais favorvel.
Doenas do Aparelho Digestivo
770
PNCREAS - Pancreatite Crnica
771
REFERNCIAS
Banks PA. Acute and chronic pancreatitis. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds). Sleisenger & Fordtrans Gastrointestinal and
Liver Disease. W.B. Saunders Co. 1998:809-862.
Forsmark CE, Toskes PP. Treatment of chronic pancreatitis. In: Wolfe MM (Ed). Therapy of Digestive Disorders. W.B. Saunders Co. 2000:235-246.
Chronic Pancreatitis (Part 5). In: Beger HG, Warshaw AL, Bchler MD et al (Eds). The Pancreas. Blackwell Science 1999:665-888.
Testoni A, Tittobello A (Eds). Endoscopy in pancreatic disease. Mosby-Wolfe 1997.
Freitas D. Pancreatite Crnica. In: Freitas D (Ed). Temas de Gastrenterologia (2 vol.) 1986:315-330.
Freitas D, Leito M (Eds). Endoscopia Digestiva. Mtodos de diagnstico e teraputica em Gastrenterologia. Permanyer Portugal, 1994.
Freitas D, Vilaa Ramos H, Cantante J et al. Duodenofibroscopia, pancreatografia e colangiografia retrgrada. Primeiras observaes.
Coimbra Medica 1973;XX(V):477-492.
Rosa A, Pragana ML, Camacho E et al. Pancreolauryl-teste no soro versus urina. Rev. de Gastrenterol 1991;VIII:272-278.
Carneiro Chaves FJZ. A teraputica da m absoro nas pancreatites crnicas. Problemas e controvrsias.
Rev. de Gastrenterol 1985;III(9):152-162.
Van Dam J (Ed). Recent advances in endoscopic ultrasonography. Gastroint Endoscopy 2000;52(6-Suppl):S1-S55.
Ammann RW. The natural history of alcoholic chronic pancreatitis. Intern Med. 2001 May;40(5):368-75.
Kasmin FE, Siegel JH. Endoscopic therapy for chronic pancreatitis. Surg Clin North Am. 2001 Apr;81(2):421-30.
Pitchumoni CS. Pathogenesis of alcohol-induced chronic pancreatitis: facts, perceptions, and misperceptions.
Surg Clin North Am. 2001 Apr;81(2):379-90.
Ebert M, Schandl L, Schmid RM. Differentiation of chronic pancreatitis from pancreatic cancer: recent advances in molecular diagnosis.
Dig Dis. 2001;19(1):32-6.
Howell JG, Johnson LW, Sehon JK, Lee WC. Surgical management for chronic pancreatitis. Am Surg. 2001 May;67(5):487-90.
Lohr M, Muller P, Mora J, et al. p53 and K-ras mutations in pancreatic juice samples from patients with chronic pancreatitis.
Gastrointest Endosc. 2001 Jun;53(7):734-43.
Massucco P, Calgaro M, Bertolino F, et al. Outcome of surgical treatment for chronic calcifying pancreatitis. Pancreas. 2001 May;22(4):378-82.
Gunkel U, Bitterlich N, Keim V. Value of combinations of pancreatic function tests to predict mild or moderate chronic pancreatitis.
Z Gastroenterol. 2001 Mar;39(3):207-11.
Quilliot D, Dousset B, Guerci B, et al. Evidence that diabetes mellitus favors impaired metabolism of zinc, copper, and selenium in chronic
pancreatitis. Pancreas. 2001 Apr;22(3):299-306.
Queneau PE, Adessi GL, Thibault P, Cleau D, Heyd B, Mantion G, Carayon P. Early detection of pancreatic cancer in patients with chronic
pancreatitis: diagnostic utility of a K-ras point mutation in the pancreatic juice. Am J Gastroenterol. 2001 Mar;96(3):700-4.
Hwang TL, Chen HM, Chen MF. Surgery for chronic obstructive pancreatitis: comparison of end-to-side pancreaticojejunostomy with
pancreaticoduodenectomy. Hepatogastroenterology. 2001 Jan-Feb;48(37):270-2.
Chen JM, Mercier B, Audrezet MP, Raguenes O, Quere I, Ferec C. Mutations of the pancreatic secretory trypsin inhibitor (PSTI) gene in
idiopathic chronic pancreatitis. Gastroenterology. 2001 Mar;120(4):1061-4.
Witt H, Hennies HC, Becker M. SPINK1 mutations in chronic pancreatitis. Gastroenterology. 2001 Mar;120(4):1060-1.
Schlosser W, Siech M, Gorich J, Beger HG. Common bile duct stenosis in complicated chronic pancreatitis.
Scand J Gastroenterol. 2001 Feb;36(2):214-9.
Cowles RA, Eckhauser FE, Knol JA. Hereditary chronic pancreatitis: implications for surgical treatment and follow-up.
Am Surg. 2001 Feb;67(2):182-7.
Conwell DL, Vargo JJ, Zuccaro G, et al. Role of differential neuroaxial blockade in the evaluation and management of pain in chronic
pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2001 Feb;96(2):431-6.
Gress F, Schmitt C, Sherman S, Ciaccia D, Ikenberry S, Lehman G. Endoscopic ultrasound-guided celiac plexus block for managing abdominal
pain associated with chronic pancreatitis: a prospective single center experience. Am J Gastroenterol. 2001 Feb;96(2):409-16.
Wallace MB, Hawes RH, Durkalski V, et al. The reliability of EUS for the diagnosis of chronic pancreatitis: interobserver agreement among
experienced endosonographers. Gastrointest Endosc. 2001 Mar;53(3):294-9.
Bhasin DK, Poddar U. Long term follow up of patients with chronic pancreatitis and pancreatic stones treated with extracorporeal shock
wave lithotripsy. Gastrointest Endosc. 2000 Oct;52(4):586-7.
Etemad B, Whitcomb DC. Chronic pancreatitis: diagnosis, classification, and new genetic developments.
Gastroenterology. 2001 Feb;120(3):682-707.
Brand B, Kahl M, Sidhu S, et al. Prospective evaluation of morphology, function, and quality of life after extracorporeal shockwave
lithotripsy and endoscopic treatment of chronic calcific pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3428-38.
Truninger K, Kock J, Wirth HP, et al. Trypsinogen gene mutations in patients with chronic or recurrent acute pancreatitis.
Pancreas. 2001 Jan;22(1):18-23.
Pitchumoni CS. Does cigarette smoking cause chronic pancreatitis? J Clin Gastroenterol. 2000 Dec;31(4):274-5.
Kimura S, Okabayashi Y, Inushima K, Kochi T, Yutsudo Y, Kasuga M. Alcohol and aldehyde dehydrogenase polymorphisms in Japanese
patients with alcohol-induced chronic pancreatitis. Dig Dis Sci. 2000 Oct;45(10):2013-7.
Malka D, Hammel P, Sauvanet A, et al. Risk factors for diabetes mellitus in chronic pancreatitis. Gastroenterology. 2000 Nov;119(5):1324-32.
Sakorafas GH, Sarr MG. Changing trends in operations for chronic pancreatitis: a 22-year experience. Eur J Surg. 2000 Aug;166(8):633-7.
De las Heras Castano G, Garcia de la Paz A, Fernandez MD, Fernandez Forcelledo JL. Use of antioxidants to treat pain in chronic pancreatitis.
Rev Esp Enferm Dig. 2000 Jun;92(6):375-85.
Pfutzer RH, Barmada MM, Brunskill AP, et al. SPINK1/PSTI polymorphisms act as disease modifiers in familial and idiopathic chronic
pancreatitis. Gastroenterology. 2000 Sep;119(3):615-23.
Pezzilli R, Talamini G, Gullo L. Behaviour of serum pancreatic enzymes in chronic pancreatitis. Dig Liver Dis. 2000 Apr;32(3):233-7.
Imoto M, DiMagno EP. Cigarette smoking increases the risk of pancreatic calcification in late-onset but not early-onset idiopathic chronic
pancreatitis. Pancreas. 2000 Aug;21(2):115-9.
Di Sebastiano P, di Mola FF, Di Febbo C, et al. Expression of interleukin 8 (IL-8) and substance P in human chronic pancreatitis.
Gut. 2000 Sep;47(3):423-8.
Teich N, Ockenga J, Hoffmeister A, Manns M, Mossner J, Keim V. Chronic pancreatitis associated with an activation peptide mutation that
facilitates trypsin activation. Gastroenterology. 2000 Aug;119(2):461-5.
Forsmark CE. The diagnosis of chronic pancreatitis. Gastrointest Endosc. 2000 Aug;52(2):293-8.
Ockenga J, Jacobs R, Kemper A, et al. Lymphocyte subsets and cellular immunity in patients with chronic pancreatitis. Digestion. 2000;62(1):14-21.
Slesak B, Harlozinska-Szmyrka A, Knast W, et al.Tissue polypeptide specific antigen (TPS), a marker for differentiation between pancreatic
carcinoma and chronic pancreatitis. A comparative study with CA 19-9. Cancer. 2000 Jul 1;89(1):83-8.
Farnbacher MJ, Rabenstein T, Ell C, et al. Is endoscopic drainage of common bile duct stenoses in chronic pancreatitis up-to-date?
Am J Gastroenterol. 2000 Jun;95(6):1466-71.
Whitcomb DC. Genetic predispositions to acute and chronic pancreatitis. Med Clin North Am. 2000 May;84(3):531-47.
Boerma D, Huibregtse K, Gulik TM, Rauws EA, Obertop H, Gouma DJ. Long-term outcome of endoscopic stent placement for chronic
pancreatitis associated with pancreas divisum. Endoscopy. 2000 Jun;32(6):452-6.
Sakorafas GH, Farnell MB, Farley DR, et al. Long-term results after surgery for chronic pancreatitis. Int J Pancreatol. 2000 Apr;27(2):131-42.
Cappeliez O, Delhaye M, Deviere J, et al. Chronic pancreatitis: evaluation of pancreatic exocrine function with MR pancreatography after
secretin stimulation. Radiology. 2000 May;215(2):358-64.
Manfredi R, Costamagna G, Brizi MG, et al. Severe chronic pancreatitis versus suspected pancreatic disease: dynamic MR
cholangiopancreatography after secretin stimulation. Radiology. 2000 Mar;214(3):849-55.
Doenas do Aparelho Digestivo
772
Kornmann M, Ishiwata T, Maruyama H, Beger HG, Korc M. Coexpression of FAS and FAS-ligand in chronic pancreatitis: correlation with
apoptosis. Pancreas. 2000 Mar;20(2):123-8.
Beger HG, Gansauge F, Mayer JM. The role of immunocytes in acute and chronic pancreatitis: when friends turn into enemies.
Gastroenterology. 2000 Mar;118(3):626-9.
Saurer L, Reber P, Schaffner T, et al. Differential expression of chemokines in normal pancreas and in chronic pancreatitis.
Gastroenterology. 2000 Feb;118(2):356-67.
Talamini G, Bassi C. The natural history of pain in chronic pancreatitis. Gastroenterology. 2000 Jan;118(1):235-7.
Chen JM, Raguenes O, Ferec C, et al. The A16V signal peptide cleavage site mutation in the cationic trypsinogen gene and chronic
pancreatitis. Gastroenterology. 1999 Dec;117(6):1508-9.
Pfutzer RH, Whitcomb DC. Trypsinogen mutations in chronic pancreatitis. Gastroenterology. 1999 Dec;117(6):1507-8.
Blackstone MO. Pain in alcoholic chronic pancreatitis. Gastroenterology. 1999 Oct;117(4):1026-8.
Talamini G, Bassi C, Falconi M, et al. Early detection of pancreatic cancer following the diagnosis of chronic pancreatitis.
Digestion. 1999 Nov-Dec;60(6):554-61.
Ruzicka M, Konecna D, Jordankova E. Portal hypertension as a complication of chronic pancreatitis.
Hepatogastroenterology. 1999 Jul-Aug;46(28):2582-4.
Lucas CE, McIntosh B, Paley D, Ledgerwood AM, Vlahos A. Surgical decompression of ductal obstruction in patients with chronic pancreatitis.
Surgery. 1999 Oct;126(4):790-5.
Apte MV, Keogh GW, Wilson JS. Chronic pancreatitis: complications and management. J Clin Gastroenterol. 1999 Oct;29(3):225-40.
Jakobs R, Riemann JF. The role of endoscopy in acute recurrent and chronic pancreatitis and pancreatic cancer.
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):783-800.
Scolapio JS, Malhi-Chowla N, Ukleja A. Nutrition supplementation in patients with acute and chronic pancreatitis.
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):695-707.
Greenberger NJ. Enzymatic therapy in patients with chronic pancreatitis. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):687-93.
Lowenfels AB, Maisonneuve P, Lankisch PG. Chronic pancreatitis and other risk factors for pancreatic cancer.
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):673-85.
Eisen GM, Zubarik R. Disease-specific outcomes assessment for chronic pancreatitis. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1999 Oct;9(4):717-30.
Talamini G, Bassi C, Falconi M, et al. Alcohol and smoking as risk factors in chronic pancreatitis and pancreatic cancer.
Dig Dis Sci. 1999 Jul;44(7):1303-11.
Izbicki JR, Bloechle C, Knoefel WT, Rogiers X, Kuechler T. Surgical treatment of chronic pancreatitis and quality of life after operation. Surg
Clin North Am. 1999 Aug;79(4):913-44.
Norton ID, Petersen BT. Interventional treatment of acute and chronic pancreatitis. Endoscopic procedures.
Surg Clin North Am. 1999 Aug;79(4):895-911.
Wong GY, Sakorafas GH, Tsiotos GG, Sarr MG. Palliation of pain in chronic pancreatitis. Use of neural blocks and neurotomy.
Surg Clin North Am. 1999 Aug;79(4):873-93.
Layer P, DiMagno EP. Early and late onset in idiopathic and alcoholic chronic pancreatitis. Different clinical courses.
Surg Clin North Am. 1999 Aug;79(4):847-60.
Clain JE, Pearson RK. Diagnosis of chronic pancreatitis. Is a gold standard necessary? Surg Clin North Am. 1999 Aug;79(4):829-45.
Lankisch PG. Progression from acute to chronic pancreatitis: a physicians view. Surg Clin North Am. 1999 Aug;79(4):815-27.
Kloppel G. Progression from acute to chronic pancreatitis. A pathologists view. Surg Clin North Am. 1999 Aug;79(4):801-14.
Bimmler D, Graf R, Frick TW. New concepts in understanding the pathophysiology of chronic pancreatitis. Int J Pancreatol. 1999 Jun;25(3):252-3.
Ammann RW, Heitz PU, Kloppel G. The two-hit pathogenetic concept of chronic pancreatitis. Int J Pancreatol. 1999 Jun;25(3):251.
Adamek HE, Jakobs R, Buttmann A, Adamek MU, Schneider AR, Riemann JF. Long term follow up of patients with chronic pancreatitis and
pancreatic stones treated with extracorporeal shock wave lithotripsy. Gut. 1999 Sep;45(3):402-5.
Whitcomb DC. Hereditary pancreatitis: new insights into acute and chronic pancreatitis. Gut. 1999 Sep;45(3):317-22.
Morris-Stiff GJ, Bowrey DJ, Oleesky D, et al. The antioxidant profiles of patients with recurrent acute and chronic pancreatitis.
Am J Gastroenterol. 1999 Aug;94(8):2135-40.
Riker A, Bartlett D. Pancreaticoduodenectomy for chronic pancreatitis: a case report and literature review.
Hepatogastroenterology. 1999 May-Jun;46(27):2005-10.
Dill JE. Chronic pancreatitis and endoscopic US: diagnosis, etiology or both? Gastrointest Endosc. 1999 Aug;50(2):303-4.
Creighton J, Lyall R, Wilson DI, Curtis A, Charnley R. Mutations of the cationic trypsinogen gene in patients with chronic pancreatitis.
Lancet. 1999 Jul 3;354(9172):42-3.
Hastier P, Buckley JM, Peten EP, Dumas R, Delmont J. Long term treatment of biliary stricture due to chronic pancreatitis with a metallic stent.
Am J Gastroenterol. 1999 Jul;94(7):1947-8.
Bhutani MS. Endoscopic ultrasonography: changes of chronic pancreatitis in asymptomatic and symptomatic alcoholic patients.
J Ultrasound Med. 1999 Jul;18(7):455-62.
Wilder-Smith CH, Hill L, Osler W, OKeefe S. Effect of tramadol and morphine on pain and gastrointestinal motor function in patients with
chronic pancreatitis. Dig Dis Sci. 1999 Jun;44(6):1107-16.
Hoshina K, Kimura W, Ishiguro T, et al. Three generations of hereditary chronic pancreatitis.
Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr;46(26):1192-8.
Margulies C, Siqueira ES, Silverman WB, et al. The effect of endoscopic sphincterotomy on acute and chronic complications of biliary
endoprostheses. Gastrointest Endosc. 1999 Jun;49(6):716-9.
Gullo L. Faecal elastase 1 in chronic pancreatitis. Gut. 1999 Feb;44(2):291-2.
Talamini G, Falconi M, Bassi C, et al. Incidence of cancer in the course of chronic pancreatitis. Am J Gastroenterol. 1999 May;94(5):1253-60.
Uhl W, Anghelacopoulos SE, Friess H, Buchler MW. The role of octreotide and somatostatin in acute and chronic pancreatitis.
Digestion. 1999;60 Suppl 2:23-31.
Gress F, Schmitt C, Sherman S, Ikenberry S, Lehman G. A prospective randomized comparison of endoscopic ultrasound- and computed
tomography-guided celiac plexus block for managing chronic pancreatitis pain. Am J Gastroenterol. 1999 Apr;94(4):900-5.
Stevens PD, Lightdale CJ. Managing chronic pancreatitis pain: a block in time. Am J Gastroenterol. 1999 Apr;94(4):872-4.
Lowenfels AB, Maisonneuve P, Grover H, et al. Racial factors and the risk of chronic pancreatitis. Am J Gastroenterol. 1999 Mar;94(3):790-4.
Carr-Locke DL. Endoscopic therapy of chronic pancreatitis. Gastrointest Endosc. 1999 Mar;49(3 Pt 2):S77-80.
Imrie CW, Menezes N, Carter CR. Diagnosis of chronic pancreatitis and newer aspects of pain control. Digestion. 1999;60 Suppl 1:111-3.
Kataoka K, Hosoda M, Yasuda H, Sakagami J, Kato M, Kashima K. Assessment of exocrine pancreatic dysfunction in chronic pancreatitis.
Digestion. 1999;60 Suppl 1:86-92.
Teich N, Mossner J, Keim V. Screening for mutations of the cationic trypsinogen gene: are they of relevance in chronic alcoholic pancreatitis?
Gut. 1999 Mar;44(3):413-6.
Gullo L, Ventrucci M, Tomassetti P, Migliori M, Pezzilli R. Fecal elastase 1 determination in chronic pancreatitis. Dig Dis Sci. 1999 Jan;44(1):210-3.
Wakabayashi T, Hayakawa Y, et al. Diagnostic value of endoscopic retrograde pancreatography in chronic pancreatitis based on the new
criteria proposed by the Japan Pancreas Society in 1995: comparison with the criteria proposed by the Japanese Society of Gastroenterology
in 1983. Pancreas. 1999 Jan;18(1):13-20.
PNCREAS - Tumores do Pncreas
773
SECO VI - PNCREAS
CAPTULO XXXVI
TUMORES DO PNCREAS
1. Tumores Excrinos
2. Tumores Endcrinos
773
Doenas do Aparelho Digestivo
1. TUMORES DO PNCREAS EXCRINO
De acordo com a recente classificao da OMS, os tumores excrinos do pncreas,
quase todos de origem epitelial, distribuem-se nos seguintes grupos:
A Benignos
Cistadenoma seroso
Cistadenoma mucinoso
Adenoma intraductal papilar-mucinoso
Teratoma
B Borderline (potencial maligno incerto)
Tumor qustico mucinoso com displasia moderada
Tumor intraductal papilar-mucinoso com displasia
Tumor slido pseudo-papilar
C Malignos
Displasia severa ductal carcinoma in situ
Adenocarcinoma ductal
Carcinoma mucinoso
Carcinoma em anel
Carcinoma adenoescamoso
Carcinoma indiferenciado
Carcinoma misto ductal-endcrino
Cistadenocarcinoma seroso
Cistadenocarcinoma mucinoso
Carcinoma intraductal papilar-mucinoso
Carcinoma de clulas acinares
Pancreatoblastoma
Carcinoma slido pseudopapilar
COMENTRIOS
O adenocarcinoma ductal, com as suas variantes compreende mais de 90% de todos
os tumores excrinos pancreticos.
A maioria dos tumores qusticos serosos so benignos. Podem ser microcsticos ou
oligocsticos. Os primeiros ocorrem quase exclusivamente em mulheres idosas, com-
preendem cerca de 1% dos tumores excrinos pancreticos, e cerca de 4-10% de todas
as leses qusticas do pncreas. Dois teros localizam-se no corpo ou cauda do pn-
creas, com dimenses de 6-11 cm. As formas oligocsticas afectam ambos os sexos.
PNCREAS - Tumores do Pncreas
775
Os tumores qusticos mucinosos podem ser adenomas, leses borderline ou carcino-
mas. Compreendem cerca de 1% dos tumores excrinos pancreticos. Ocorrem na
mulher de meia idade e localizam-se usualmente na cauda do pncreas. So habitual-
mente grandes (2-30 cm) e consistem em quistos nicos ou mltiplos, que em regra
no comunicam com o ducto pancretico. Os marcadores CEA e CA 19.9 podem ser
detectados no fluido qustico em nveis elevados. A exciso completa do tumor deter-
mina uma evoluo favorvel em mais de 50% dos casos.
Os tumores intraductais papilar-mucinosos, afectam ambos os sexos, usualmente na
dcada dos 60 anos. Os sintomas lembram os da pancreatite. O ducto principal encon-
tra-se ectasiado ou mesmo qustico, e o pncreas restante evidencia aspectos de pan-
creatite crnica obstrutiva. semelhana dos tumores qusticos mucinosos, a linha de
evoluo destes tumores parece ser a de adenoma-carcinoma. Em cerca de 10-20%
dos casos, o tumor invasivo, com ou sem metstases. O prognstico em geral
bom, aps resseco cirrgica.
O tumor slido pseudo-papilar comporta-se na maioria dos casos de forma benigna e
ocorre na mulher jovem. Clinicamente os doentes so assintomticos ou queixam-se
de desconforto abdominal. O tumor apresenta-se como uma massa, de 3-20 cm de
dimetro, localizada em qualquer zona do pncreas.
O carcinoma de clulas acinares ocorre preponderantemente na 5-7 dcada da vida,
com relao homem:mulher de 2:1. Muitos doentes apresentam clinicamente metsta-
ses a distncia de um carcinoma oculto. Este tumor presumivelmente liberta lipase
que pode originar focos de necrose subcutnea, poliartralgias e eosinofilia. As suas
dimenses variam de 2-16 cm, localizando-se em qualquer rea do pncreas.
Os pancreatoblastomas so raros e ocorrem sobretudo em crianas, com idades entre
1-8 anos. Se o tumor se encontra bem encapsulado, a sua exrese cirrgica completa
seguida de bom prognstico.
CANCRO DO PNCREAS (Adenocarcinoma ductal)
1 EPIDEMIOLOGIA
O cancro do pncreas (CP) a quinta ou sexta causa de morte por cancro nos Estados
Unidos da Amrica, representando 5.2% da mortalidade por cancro no homem e 5.4%
na mulher. No Reino Unido, o CP representa 3% de todos os cancros, e 5% de todas
as mortes por cancro. Nos ltimos 70 anos, a mortalidade ajustada idade triplicou
nos estados Unidos, na Europa e no Japo, por razes ainda no cabalmente identi-
ficadas.
Doenas do Aparelho Digestivo
776
O CP ocorre mais frequentemente no homem do que na mulher, sendo essa relao
de 2:1, aproximadamente. Esse rcio difere contudo de acordo com a raa do doen-
te.
A incidncia do CP aumenta com a idade. Cerca de 80% dos casos acontecem em
doentes com idade entre 60-80 anos. Menos de 2% dos casos ocorrem antes dos 40
anos.
As taxas de incidncia mais baixas registam-se em zonas da ndia, Kuwait e Singapura
(0.7-2.1/100.000 habitantes). As mais elevadas encontram-se nos Estados Unidos da
Amrica, na Europa e na Nova Zelndia (12-20/100.000 habitantes).
Em certos credos religiosos a incidncia de CP mais elevada do que noutros (por
exemplo judeus v. mormons), provavelmente em consequncia dos estilos de vida
(hbitos dietticos sobretudo). pouco claro o papel desempenhado pelo estracto
scio-econmico, bem como pela rea de residncia (urbana v. rural).
2 FACTORES DE RISCO
A De ordem no gentica
Idade.
indubitvelmente o mais potente factor de risco conhecido. O CP cerca de 20
vezes mais comum em pacientes com mais de 50 anos de idade.
Sexo.
Relao homem:mulher de 2:1, aproximadamente.
Raa.
Relao raa negra:banca, 1.5:1, provavelmente pelas diferenas encontradas no
tocante ao metabolismo da nicotina e na susceptibilidade aos carcinognios do taba-
co.
Dieta.
Teriam maior risco as dietas com elevado teor lipdico e calrico, e menos risco as
que incluem frutos frescos, vegetais e fibras. O caf no geralmente considerado
factor de risco.
Tabaco.
Est demonstrado que representa um factor de risco indiscutvel. Postula-se um efei-
to directo organo-especfico de N-nitrosaminas do tabaco, ou a secreo destas na
PNCREAS - Tumores do Pncreas
777
blis, refluindo depois para o canal pancretico.
Pancreatite crnica.
Em estudos de coortes ou casos-controlo, foi evidenciado que a pancreatite crnica
alcolica constitui um factor de risco, embora explique s 3 a 4% dos casos de CP. A
pancreatite hereditria apresenta um risco muito mais elevado, estimando-se um risco
cumulativo de 40% se o doente atinge os 70 anos de idade. A idade de incio do CP
em doentes com pancreatite crnica de 1-2 dcadas mais cedo do que a idade
mdia de incio na populao global.
Diabetes mellitus.
Um estudo de meta-anlise recente revelou que esta afeco deve ser considerada fac-
tor de risco de CP. mais provvel, porm, que a diabetes seja secundria ao tumor
pancretico.
Profisso.
A exposio ocupacional a carcinognios ainda no identificados, representaria um
outro factor de risco.
B De ordem gentica
Cerca de 10% dos doentes com CP evidenciam anomalias genticas. So as seguintes
Doenas do Aparelho Digestivo
778
Pancreatite hereditria 7q35
Fibrose qustica 7q31
CP familiar ?
BrCa2 13
Ca hereditrio do clon 2, 3
FAP (polipose adenomatosa familiar) 5q12-21
Sndrome de Li-Fraumeni 17p13.1
Sndrome de Peutz-Jeghers 19p
Ataxia-telangiectasia 11q
Sndrome de melanoma maligno atpico familiar 9p21
Doena Cromossoma anmalo
as doenas hereditrias com risco aumentado de CP:
A etiologia do cancro do pncreas ainda no se encontra decifrada. Com os avanos
da biologia molecular, ser possvel identificar outras possveis alteraes genticas
que conduzam a um melhor conhecimento dos factores envolvidos na carcinognese
pancretica, e identificao de mtodos de preveno da doena. Um esquema
sumrio da etiologia do CP, o representado na figura seguinte:
3 PATOMORFOLOGIA
Como se referiu, o adenocarcinoma do pncreas compreende mais de 90% dos tumo-
res pancreticos.
60-70% dos cancros do pncreas (CP) localizam-se na poro ceflica da glndula,
obstruindo o coldoco, invadindo com frequncia o duodeno e originando fenmenos
de pancreatite crnica obstrutiva.
Histolgicamente podem aparecer bem diferenciados, moderadamente diferenciados
ou indiferenciados.
Como marcadores imunocitoqumicos desta neoplasia, utilizam-se mais frequentemen-
te o CA 19.9, o CEA, o Du-PAN Z e o Span1.
Os adenocarcinomas ductais evidenciam rpida extenso intra e extrapancretica. No
parnquima pancretico infiltram o tecido acinar e podem estender-se ao longo dos
ductos. Em 15-40% h focos multicntricos intraductais. A invaso extra-pancretica
envolve em primeiro lugar o espao retroperitoneal, com infiltrao para o tecido adi-
poso, espaos perineurais e canais linfticos. Em fase mais avanada ocorre invaso
das veias. Por isso, a disseminao linftica precede, habitualmente, a disseminao
hematognea. Nos carcinomas do corpo e da cauda, porque so usualmente mais tar-
diamente detectados, a extenso local e as metstases so regra geral mais proemi-
nentes, incluindo o envolvimento do fgado, peritoneu, bao, estmago e suprarenal
PNCREAS - Tumores do Pncreas
779
Sndromes tumorais
hereditrios
Pancreatite
crnica
Tabaco Dieta
Cancro do pncreas
Oncogenes
e
genes supressores
ETIOLOGIA DO CANCRO DO PNCREAS
esquerda.
As metstases hematogneas acontecem para o fgado, pulmes, suprarenais, rim,
esqueleto, crebro e pele.
Comeam a ser crescentemente identificados os eventos biolgicos moleculares que
concorrem para o desenvolvimento, extenso local e disseminao a distncia do CP.
Os principais eventos biomoleculares at agora encontrados respeitam os seguintes
factores:
Factores de crescimento e seus receptores
Famlia dos receptores do factor de crescimento epidrmico (EGFR, TGF, anfiregu-
lina, betacelulina, epiregulina, HER2, HER3, HR4);
Factor de crescimento hepatocitrio (HGF) e receptor MET;
Factor de transformao do crescimento da famlia Beta (TGF-1, TGF-2 e TGF-3);
Factor de crescimento fibroblstico (FGF) e respectivos receptores (FGF 1-9).
Oncogenes
K-ras
Genes de supresso tumoral
p53
p16
SMAD4
Instabilidade de microsatlites
Genes de reparao hMSH2, hMLH1, hPMS1 e hPMS2.
Metaloproteinases da matriz extracelular
Colagenases (MMP1 e MMP8), gelatinases MMP2 e MMP9) e stromelisinas (MMP3,
MMP10 e MMP11);
Inibidores das metaloproteinases (TIMPs).
Citocinas
Sistema de coagulao
Factor tissular (TF)
No quadro seguinte, indicam-se os principais eventos biomoleculares postulados no
desenvolvimento do cancro do pncreas:
Doenas do Aparelho Digestivo
780
4 CLNICA
A SINTOMAS PRINCIPAIS
Dor abdominal
Ictercia
Ictercia e dor
Perda de peso
Metstases
Sintomas menos comuns
Depresso
Pancreatite
Doena tromboemblica
Diabetes mellitus
Artrite
Necrose gorda subcutnea
COMENTRIOS
Os sintomas no so suficientemente especficos para permitir o diagnstico seguro
sem o suporte laboratorial, imagiolgico ou histopatolgico. Infelizmente na maioria
PNCREAS - Tumores do Pncreas
781
Clula
acinar
Stem cell
pancretica
Neoplasia
intraductal
Clula
ductal
Neoplasia
invasiva
Estroma
Hiperplasia
da clula
ductal
Metstases
P16
-
SMAD4
-
ECAD
TF
ERBB2
FGF 1, 2
HGF
FGFR 1, 3, 4
FGF 1, 2, 3, 4
MET
?K-ras
+
?K-ras
+
p53-
?
?
EGFR
ERBB 3, 4 e HRG
FGF 7
BIOLOGIA MOLECULAR DO CANCRO DO PNCREAS
Doenas do Aparelho Digestivo
782
dos doentes os sintomas desenvolvem-se numa fase tardia, no viabilizando uma
teraputica curativa.
A dor abdominal aparece em dois teros dos doentes com CP. A dor iniciou-se regra
geral 2-3 meses antes da consulta mdica. usualmente epigstrica e constante.
Embora inicialmente discreta, aumenta em severidade at atingir grande intensidade.
A dor no tem habitualmente relao com as refeies, podendo nalguns casos
aumentar com a ingesto de alimentos. No h relao com os movimentos intesti-
nais. A irradiao para a direita ou esquerda, sugere envolvimento da cabea ou cauda
do pncreas, respectivamente. Nalguns doentes h irradiao posterior, e algum al-
vio com a posio sentada ou com a flexo do tronco para as pernas.
A ictercia ocorre em cerca de metade dos doentes com CP. Pode surgir sem dor, mas
muitos doentes apresentam ictercia com dor abdominal ou dorsolombar, neste caso
por envolvimento retroperitoneal do tumor. Usualmente a ictercia resulta da compres-
so do coldoco pela formao tumoral. Em cerca de 10% dos casos, a ictercia devi-
da a metstases linfticas para os gnglios periportais.
Cerca de 80% dos doentes com CP tm perda de peso significativa e muitas vezes
rpida. Frequentemente, na doena avanada, a perda de peso devida a anorexia.
Menos frequentemente, resulta de um processo de esteatorreia, devida a ocluso
maligna do canal de Wirsung, que induz m digesto e m absoro.
A depresso ocorre frequentemente no cancro avanado. No entanto, pode ser um dos
sintomas de apresentao clnica inicial.
Um pequeno nmero de doentes com adenocarcinoma ductal apresentam episdios
tpicos de pancreatite aguda. No idoso ou em doentes de risco sem explicao para
o desenvolvimento de um quadro de pancreatite, deve ser considerada a possibilida-
de de CP.
Alguns doentes apresentam quadros de doena venosa tromboemblica, usualmente
mltiplos e em locais pouco habituais. a chamada sndrome de Trouseau, mais
comum em doentes com tumores localizados no corpo ou na cauda do pncreas. Esta
sndrome no especfica do CP, podendo surgir em adenocarcinomas de outras ori-
gens.
Ocasionalmente, o incio sbito de diabetes num doente idoso pode assinalar o
desenvolvimento de um CP.
Infrequentemente, os doentes com CP apresentam as articulaes dolorosas e tume-
factas, com ndulos sensveis subcutneos, designadamente nos membros inferiores.
So resultado de processos de necrose gorda subcutnea, que surge sobretudo em
carcinomas de tipo acinar, produtores de lipase.
B EXAME FSICO
No exame geral pode haver evidncia de perda de peso, ictercia ou linfadenopatias.
No h usualmente sinais de doena heptica crnica.
No exame fsico do abdmen pode palpar-se uma vescula dilatada (sinal de
Courvoisier), que sugere uma obstruo distal do coldoco.
Na maioria dos doentes com dor, h hipersensibilidade palpao epigstrica profun-
da. Nalguns doentes palpa-se uma discreta massa, que traduz a presena de tumor.
No entanto, mais frequentemente o que se palpa um fgado aumentado por mets-
tases.
Menos frequentemente pode existir esplenomeglia, devida a trombose da veia espl-
nica com hipertenso portal localizada.
Pode desenvolver-se ascite, por infiltrao tumoral da porta hepatis ou por carcino-
matose peritoneal.
A artrite, a necrose lipdica subcutnea ou a trombose venosa profunda ocorrem infre-
quentemente no CP.
5 DIAGNSTICO
O diagnstico de cancro do pncreas exige o recurso a vrios tipos de exames com-
plementares, aps elaborao de uma histria clnica cuidada, que pode facultar
dados sugestivos importantes.
No mbito dos exames complementares, abordaremos o interesse clnico dos marca-
dores tumorais e dos estudos imagiolgicos, complementados, se necessrio com
exames morfolgicos (bipsia e citologia).
A MARCADORES TUMORAIS
No existem, infelizmente marcadores tumorais especficos de cancro e especficos de
rgo.
No mbito do cancro do pncreas (CP), tm sido estudados vrios tipos de testes
serolgicos: (1) estruturas glicoproteicas derivadas das mucinas (2) glicoproteinas
PNCREAS - Tumores do Pncreas
783
oncofetais; (3) antignios de clulas epiteliais de superfcie; (4) enzimas e (5) hormo-
nas.
Estes marcadores tumorais visam atingir os seguintes objectivos: (1) rastreio de popu-
laes assintomticas; (2) contribuio para o diagnstico de CP em doentes sinto-
mticos; (3) estadiamento da doena antes do tratamento; (4) monitorizao da evo-
luo da doena, particularmente aps resseco cirrgica ou quimioterpia.
Doenas do Aparelho Digestivo
784
Mucinas
CA 19.9 70-90 68-97
CA 50 60-96 58-99
CA 242 57-81 79-91
DU-PAN-2 38-76 59-66
Span-1 72-93 75-85
CAM 17.1 78-91 76-92
CA-195 76 53
CAR-3 44 ?
CA-125 45-59 76-94
B 72.3 34-74 89
TKH 2 40 ?
CA 494 90 91
Antignios oncofetais
CEA 30-92 58-95
POA 72-81 84-86
EPM-1 ? ?
Enzimas
Elastase 1 35-72 60-82
Galactotransferase II 67 98
SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DE MARCADORES TUMORAIS NO CANCRO DO PNCREAS
Marcador Tumoral Sensibilidade % Especificidade %
A sensibilidade e a especificidade dos mltiplos marcadores tumorais at agora
ensaiados, encontram-se definidas no quadro seguinte:
As concluses prticas a extrair dos resultados at agora obtidos no cancro do pn-
creas com marcadores tumorais, so as seguintes:
Tem interesse clnico o seu estudo em doentes no ictricos, com dor abdominal
alta no explicada ou perda de peso;
Devem ser solicitados em doentes com massa ou quisto pancretico. Neste ltimo
caso, alguns marcadores tm evidenciado utilidade quando analisados no fluido
qustico, para a definio da natureza benigna ou maligna da leso (o CEA e o
CA125 evidenciaram possuir um bom potencial discriminativo).
Devem ser estudados com intuitos de monitorizao aps resseco cirrgica ou
quimioterpia;
No so suficientemente especficos para o rastreio de indivduos assintomticos;
Tm escasso interesse no estudo das situaes de ictercia;
O CA 19.9 o marcador tumoral mais utilizado. A sensibilidade e especificidade
variam de acordo com os nveis de cutoff utilizados. Para um cutoff de 15 U/ml,
a sensibilidade e a especificidade so de, respectivamente, 92% e 60%. Para um
cutoff de 1000 U/ml, essas percentagens seriam de 40% e 99%, respectivamen-
te.
B EXAMES IMAGIOLGICOS
1. NO INVASIVOS
Ultrasonografia (US)
usualmente o primeiro exame a realizar na suspeita de CP.
Tem uma sensibilidade de 70% e uma especificidade de 95% no diagnstico deste
tumor.
Pode detectar tumores pequenos ( 1 cm), se existe diferena adequada de eco-
genicidade entre o tecido neoplsico e o tecido pancretico.
Complementada com tcnica Doppler, a US pode avaliar o envolvimento locoregio-
nal de vasos.
A US no til no estadiamento do tumor. Detecta com dificuldade o envolvimen-
to peripancretico e mesentrico, bem como a infiltrao duodenal, gastrointesti-
nal e do clon.
um exame operador-dependente, e prejudicado pela obesidade ou gases gas-
trointestinais.
Tomografia computorizada (TC)
Tem uma sensibilidade de 80% e uma especificidade de 95% no diagnstico do
CP. Detecta com facilidade leses superiores a 2 cm.
Para efeitos de diagnstico, a TC solicitada habitualmente aps a US. Se existe
ictercia, pode ser solicitada aps US + CPRE.
Tem um importante papel no estadiamento do processo tumoral, porque visualiza
toda a glndula pancretica e faculta informaes sobre a ressecabilidade cirrgi-
ca da leso (adenopatias, metstases hepticas e envolvimento vascular).
O estadiamento ganglionar pela TC ainda inapropriado, obtendo-se melhores
resultados com a eco-endoscopia.
Um diagnstico de irressecabilidade com base na informao da TC altamente
fidedigno. Porm, um diagnstico de ressecabilidade problemtico, na medida
PNCREAS - Tumores do Pncreas
785
em que a taxa de falsos negativos significativa, particularmente o que respeita
s metstases hepticas.
Ressonncia magntica (RM)
As novas tcnicas de RM evidenciam grande potencialidade na avaliao das doen-
as pancreticas. A melhor aplicao da RM, no tocante ao CP, inclui: exame de
doentes com funo renal diminuda ou alergia aos agentes de contraste iodados;
deteco de pequenos tumores; determinao da localizao do tumor para bi-
psia dirigida; avaliao de envolvimento vascular; deteco e caracterizao de
leses hepticas associadas.
A aplicao desta tecnologia melhorou com o advento da colangiopancreatografia
por ressonncia magntica (CPRM), que tem um importante papel no estudo da
ictercia obstrutiva. A CPRM faculta informaes muito teis sobre o parnquima
heptico e pancretico, bem como dos ductos biliopancreticos, quando estes se
encontram dilatados, sem necessidade de utilizao de agentes de contraste.
Trata-se de uma tecnologia muito promissora.
2. EXAMES INVASIVOS
CPRE
A colangiotancreatografia retrgrada endoscpica (CPRE) desempenha actualmen-
te um importante papel no diagnstico do CP, porque evidencia elevada sensibili-
dade (94%) e especificidade (97-100%).
Objectivo primrio da CPRE o exame do duodeno e da regio periampular, e a
opacificao dos ductos biliares e pancreticos, para confirmar o diagnstico de
estenose neoplsica e estabelecer a sua origem e extenso.
Na presena de CP, o envolvimento do coldoco o sinal mais tpico detectado na
CPRE. A ocorrncia simultnea de estenoses irregulares nos ductos pancretico e
biliar origina o aparecimento de um sinal caracterstico, o double duct sign.
O canal de Wirsung pode estar totalmente obstrudo ou irregularmente estenosa-
do, sem sinais de ductos secundrios a nvel da estenose, um dos importantes
achados no diagnstico diferencial com a pancreatite crnica.
O estudo por CPRE permite, complementarmente, a obteno de bipsias dirigidas
ou de clulas para estudo citolgico (obtidas directamente da leso, por esfrega-
o ou escova, ou visualizadas nos fluidos pancretico e biliar).
O advento de colangioscpios e pancreatoscpios miniaturizados, introduzidos
atravs do canal de bipsia dos duodenoscpios convencionais, constitui uma
outra perspectiva promissora no mbito da CPRE.
Doenas do Aparelho Digestivo
786
Eco-endoscopia
uma tcnica sofisticada e exigente em termos de aprendizagem. Manuseada por
operador experimentado, apresenta elevada sensibilidade e especificidade na defi-
nio de anomalias focais do pncreas.
Na avaliao da ressecabilidade pancretica, provavelmente o melhor mtodo de
estudo da invaso do sistema porta.
Por outro lado, possibilita a obteno de material tissular mediante aspirao do
tumor com agulha fina, tcnica de grande valor no diagnstico diferencial entre
leso maligna ou processo inflamatrio, e na identificao e estadiamento de
leses potencialmente ressecveis.
Outras tcnicas
A laparoscopia defendida por alguns autores, visando o estadiamento do tumor
pancretico, na medida em que possibilita a visualizao de pequenas metstases
peritoneais no detectveis por outros mtodos. Alm disso, permite a lavagem
peritoneal para estudo citolgico, sendo ainda de reportar a utilizao recente da
ultra-sonografia laparoscpica pr ou per-operatria.
Tambm de relevar a introduo recente da ultra-sonografia intraductal, utilizan-
do minisondas de alta frequncia atravs do canal de bipsia dos duodenoscpios
convencionais, que so inseridas no coldoco ou no canal de Wirsung. uma tc-
nica em fase de desenvolvimento.
O PET (positron-emission tomography) uma tcnica altamente sofisticada, recen-
temente introduzida designadamente no diagnstico oncolgico. Resultados pro-
missores foram recentemente publicados no mbito do cancro do pncreas.
C EXAMES MORFOLGICOS
Aspirao percutnea com agulha fina.
uma tcnica aplicvel a qualquer leso pancretica visualizada por tcnicas imagio-
lgicas. A orientao da agulha faz-se usualmente mediante a utilizao de TC ou US.
A interpretao do material exige um citologista experimentado. Revendo a literatura,
encontramos taxas de sensibilidade de 67-92%, e percentagens de especificidade de
quase 100%. A taxa de sensibilidade pode ainda melhorar combinando a citologia com
o estudo de marcadores tumorais.
Bipsia e citologia endoscpica.
PNCREAS - Tumores do Pncreas
787
Ver CPRE, Eco-endoscopia e Laparoscopia.
D ALGORITMO DE DIAGNSTICO
O diagnstico do cancro do pncreas baseia-se, como vimos, no exame clnico e na
petio de exames complementares de vria ndole. A hierarquizao desses exames
depende de vrios factores, uns inerentes ao doente, e outros dependentes das con-
dies em recursos tcnicos e humanos locais, bem como da experincia acumulada
nos diferentes centros. No pode haver, por isso, um esquema rgido de avaliao do
Doenas do Aparelho Digestivo
788
Suspeita clnica
US + marcadores tumorais
TC espiral bifsica
Massa pancretica
(> 2 cm)
Massa <2 cm
Achados equvocos
Hipertrofia difusa
com clculos
Pncreas e ductos
bilio-pancreticos
normais
Pesquisar
outras causas
CPRE
Aspirao percutnea
para citologia
Positiva para cancro Negativa para cancro
CPRE
Avaliar possvel
resseco:
Eco-endoscopia, ? Laparoscopia
Wirsung
normal
Wirsung
alterado
Ev. Laparotomia
exploradora
ou
repetir citologia percutnea
Citologia
endoscpica
DIAGNSTICO DO CANCRO DO PNCREAS
doente. Apesar disso, sugerimos o algoritmo seguinte, sujeito obviamente a altera-
es eventuais.
6 TERAPUTICA
O tratamento do cancro do pncreas (CP) implica um estadiamento o mais apurado
possvel. No momento actual, a tomografia computorizada espiral bifsica geralmen-
te recomendada como porventura o mtodo mais fidedigno de diagnosticar e estadiar
o CP. A eco-endoscopia surge igualmente como um bom mtodo de estadiamento local
e nodal do CP. A laparoscopia utilizada nalguns centros, considerando que 10-15%
dos doentes apresentam pequenas metstases hepticas ou peritoneais no detecta-
das nos estudos imagiolgicos pr-operatrios. Postula-se que ter interesse nos
casos de CP com evidncia de metstases hepticas na tomografia computorizada,
no confirmada por puno aspirativa com agulha fina; nos tumores do corpo e da
cauda do pncreas, que normalmente tm poucas hipteses de ressecabilidade; e no
CP com ascite.
A Teraputica cirrgica
A resseco de Whipple, ou alguma das suas variantes, so correntemente efectuadas
no tratamento cirrgico do CP. A interveno de Whipple consiste na realizao de
antrectomia, colecistectomia e remoo do coldoco distal, cabea do pncreas, duo-
deno, jejuno proximal e gnglios linfticos regionais. A reconstruo requer uma pan-
creatojejunostomia, hepaticojejunostomia e gastrojejunostomia.
Na maioria dos centros mundiais, a mortalidade cirrgica 2%.
A resseco cirrgica a nica chance de cura. A sobrevida global aos 5 anos varia
com as estatsticas, oscilando entre 6% e 25%. As dimenses do tumor, a invaso
ganglionar e a maior ou menor agressividade na resseco contriburam para essas
diferenas.
Numa anlise multivariada recente, verificou-se que eram factores predizentes de
melhor prognstico: tumor < 3 cm, ausncia de gnglios atingidos e margens de res-
seco sem sinais histolgicos de tecido tumoral.
B Teraputica paliativa
O tratamento paliativo cirrgico ou mdico importante porque 85-90% dos doentes
tm tumores irressecveis devido a disseminao local ou a distncia.
Se a resseco do tumor primrio invivel, o cirurgio frequentemente realiza um
bypass: colecistojejunostomia ou coledocojejunostomia.
Os doentes que necessitam de desobstruo do coldoco e no so candidatos a res-
PNCREAS - Tumores do Pncreas
789
seco cirrgica, devem ser submetidos a teraputica endoscpica, com colocao de
uma prtese biliar metlica auto-expansvel aps esfincterotomia. So doentes a vigiar
periodicamente, no intuito de detectar complicaes da prtese, designadamente obs-
truo com colangite.
A dor um problema major, no doente com CP. A esplancnicectomia qumica perope-
ratria ou o bloqueio do plexo celaco (que actualmente se realiza por via percut-
nea), bem como o recurso a analgsicos opiides de aco prolongada, propiciam em
geral um controlo adequado da dor.
A depresso bastante frequente nos doentes com CP (30-40%), pelo que deve ser
devidamente tratada.
Se h sinais de insuficincia excrina pancretica, devem ser prescritos enzimas pan-
creticos.
No tocante administrao de quimioterpia, em complemento da cirurgia, ou nos
doentes inoperveis, os dados actuais so muito pessimistas. A combinao de vrios
agenes no se revelou superior monoterpia. O frmaco actualmente proposto, em
regime de monoterpia, a gemcitabina, que revelou ser superior ao 5-FU.
Quanto radioterpia, tem sido utilizada como teraputica adjuvante (tratamento
aps resseco potencialmente curativa), ou como tratamento de doena locoregional
irressecvel. Outros autores utilizam a quimioradioterpia na fase pr-operatria. Os
resultados no so satisfatrios.
Seja qual for a modalidade de tratamento advogado (poliquimioterpia, monoterpia,
radioquimioterpia, radioterpia), a verdade que a sobrevida mdia dos doentes
com CP metastizado no ultrapassa os seis meses. Aguardam-se novos avanos tera-
puticos para melhorar este terrvel prognstico.
2. TUMORES NEUROENDCRINOS DO PNCREAS
Os tumores endcrinos do pncreas so neoplasias raras caracterizadas por sintetiza-
rem e segregarem peptdeos biolgicamente activos. A aco destes peptdeos num
determinado alvo induz frequentemente uma constelao de sinais e sintomas que
podem variar desde a franca neuroglicopenia associada ao insulinoma at aos sinais
indolentes (rash, diarreia) do tumor produtor de glucagina.
Mais recentemente apurou-se que estes tumores podem ser silenciosos do ponto de
vista hormonal e manifestar-se somente como uma massa pancretica.
A frequncia estimada dos tumores endcrinos sintomticos inferior a 1 por 100.000
Doenas do Aparelho Digestivo
790
habitantes, sendo o insulinoma o mais frequente. Estudos recentes admitem que 20-
30% de todas as neoplasias endcrinas pancreticas so assintomticas.
1 HISTOPATOLOGIA
O diagnstico histopatolgico dos tumores neuroendcrinos baseado na colorao
pela prata: colorao argirfila pelo Grimelius, que um marcador genrico da dife-
renciao neuroendcrina. Nos ltimos anos tm sido ensaiados mltiplos marcado-
res das clulas neuroendcrinas, que facultam uma informao fenotpica do tumor.
Alm disso, podem ser teis no diagnstico de tumores que no produzem nem segre-
gam protenas especficas. Os marcadores histopatolgicos dos tumores neuroend-
crinos so os seguintes:
Marcadores citoslicos:
Enolase especfica de neurnios
Pgh 9.5 (protein gene product 9.5)
7 B2
Marcadores associados a pequenas vesculas
Sinaptofisina
Marcadores associados a grnulos secretores
Cromograninas A, B, C
Leu 7
2 ASPECTOS CLNICOS
Uma grande percentagem dos tumores dos ilhus pancreticos so muito provavel-
mente assintomticos e no diagnosticados, porque elevada a sua prevalncia nas
sries de autpsia (1500 em 100.000), comparada com a incidncia clnica dos tumo-
res endcrinos que inferior a 1/100.000.
Os ilhus pancreticos contm clulas alfa (glucagina), clulas beta (insulina) e clu-
las delta (somatostatina), bem como clulas enterocromafins (serotonina). Os tumo-
res derivados destas clulas segregam uma variedade de polipeptdeos, que podem
ser hormonas clssicas ou peptdeos anmalos.
Os tumores do pncreas endcrino podem dividir-se em neoplasias de ocorrncia
espordica, sem histria pessoal ou familiar de distrbio endcrino, e tumores com
evidncia clara de predisposio hereditria para mltiplas neoplasias do sistema
endcrino (multiple endocrine neoplasia MEN tipo I). Esta sndrome caracteriza-
da pela ocorrncia de tumores na hipfise, glndula paratiride, e ilhus pancreti-
cos. A maioria dos doentes com a sndrome MEN-I, tambm chamada de sndrome de
Werner, desenvolvem gastrinomas (64%) ou insulinomas (24%), embora possam ocor-
PNCREAS - Tumores do Pncreas
791
rer outros tumores dos ilhus pancreticos, funcionantes ou no. Na sndrome MEN-I
foi localizada uma deleco gentica especfica localizada no cromossoma 11q13.
Recentemente foi clonado um potencial gene (PLC-B3) desta regio cromossmica,
podendo facilitar futuramente o rastreio gentico desta afeco.
3 ACHADOS LABORATORIAIS
A mensurao dos marcadores peptidrgicos no sangue til no diagnstico e moni-
torizao da doena. Apurou-se que a Cromogranina A um importante marcador de
rastreio dos tumores neuroendcrinos. positiva em 80-100% dos doentes com tumo-
res neuroendcrinos. A Cromogranina B til no diagnstico de carcinides e de
tumores produtores de insulina.
O polipeptdeo pancretico (PP) aumenta em cerca de 60% dos doentes com tumo-
res neuroendcrinos pancreticos.
As sub-unidades a e b da gonadotrofina humana corinica (hCG) aumentam em 20-
30% destes doentes, podendo vaticinar mau prognstico.
Um adicional marcador dos tumores neuroendcrinos a 72, uma protena com 179
aminocidos, cuja imunoreactividade aumenta nestes tumores.
A mensurao urinria do cido 5-hidroxi-indolactico (5-HIAA), que um produto do
metabolismo da serotonina, um marcador clssico dos tumores carcinides activos.
Nalguns doentes, so teis alguns testes de estimulao para confirmar o diagnsti-
co. o caso da estimulao da gastrina pela secretina na sndrome de Zollinger-
Ellison, que positiva em percentagens que podem atingir os 80%. Outro exemplo
a estimulao alimentar do polipeptdeo pancretico no diagnstico precoce de tumo-
res endcrinos, particularmente em membros de famlias com tumores MEN-I. Tambm
a estimulao com pentagastrina pode induzir uma reaco de flush em doentes
com carcinides, e uma prova de jejum de 48-72 horas com mensurao posterior da
insulina e da glicose pode ser til na identificao de um insulinoma.
Doenas do Aparelho Digestivo
792
Insulinoma Glicmia , insulina, C-peptdeo , proinsulina , teste do jejum
Gastrinoma Gastrinmia , dbito cido , teste de estimulao com secretina
Vipoma VIP , K
+
, Cl
-
Glucaginoma Glucagina , aminocidos
Somatostatinoma Somatostatina , teste de estimulao com pentagastrina, teste de
tolerncia glicose
Tumores no funcionantes PP (polipeptdeo pancretico)
ACHADOS BIOQUMICOS NOS TUMORES ENDCRINOS DO PNCREAS
Tumor Anomalias Bioqumicas
No quadro seguinte, resumem-se as caractersticas bioqumicas dos tumores endcri-
nos do pncreas:
4 ESTUDOS IMAGIOLGICOS
A clnica e os parmetros bioqumicos conseguem identificar a existncia de tumores
endcrinoms em percentagens elevadas. No entanto, para efeitos de tratamento,
importante localizar o tumor primitivo e as suas metstases.
Com este intuito, tm sido utilizados nos ltimos anos a tomografia computorizada
(TC), a ressonncia magntica (RM), a eco-endoscopia e a arteriografia mesentrica
selectiva (AMS) com infuso de secretina ou de clcio, tcnica particularmente til na
deteco de gastrinomas ou insulinomas.
No entanto, o avano imagiolgico mais significativo foi o desenvolvimento da cinti-
grafia com o octretido marcado pelo In
111
, baseado na circunstncia de os tumores
endcrinos expressarem um grande nmero de receptores da somatostatina, particu-
larmente do subtipo 2, para os quais o octretido evidencia grande afinidade.
Saliente-se, no entanto, que at 20% dos tumores neuroendcrinos podem no
expressar esses subtipos 2 dos receptores da somatostatina em quantidade suficien-
te para possibilitar a sua visualizao. Este facto particularmente evidente para os
insulinomas, pois reconhece-se que at 40% destes tumores no expressam esses
subtipos.
5 SINDROMES ESPECFICOS
Insulinoma
o tumor endcrino pancretico sintomtico mais comum.
Os sintomas associam-se frequentemente com o jejum e so mais comummente de
tipo neuroglicopnico (alteraes ligeiras da personalidade, confuso, perturbaes
visuais, coma), e menos resultantes da libertao de catecolaminas compensadoras
(diaforese, palidez, taquicardia).
Os insulinomas so geralmente tumores benignos solitrios do pncreas (70-80%),
propcios para resseco cirrgica.
O diagnstico requer a comprovao de hipoglicmia, na presena de nveis plasm-
ticos elevados de insulina. O teste de jejum em regime de internamento (at 72 horas)
com monitorizao da glicmia e dos nveis de insulina, a forma mais eficaz de
estabelecer o diagnstico. O teste positivo para insulinoma se os nveis sricos de
insulina so estveis ou aumentam durante a hipoglicmia (glicmia < 50 mg/dl), ou
se a relao da insulina (em miliunidades/dl) para a glicose (em miligramas/dl) maior
que 0.3. O doseamento da proinsulina e do peptdeo C pode ajudar na afirmao do
diagnstico.
PNCREAS - Tumores do Pncreas
793
Gastrinoma e Sndrome de Zollinger-Ellison
o segundo mais frequente tumor endcrino do pncreas. Pelo menos 60% dos gas-
trinomas so malignos. Cerca de um tero dos doentes tm uma sndrome MEN-I.
A maioria dos gastrinomas localizam-se no pncreas, duodeno e estmago, podendo
raramente localizar-se noutros rgos.
A apresentao clnica usual a hipergastrinmia com um dbito cido basal gstri-
co >15 mEq/hora, e um quadro de ditese ulcerosa, sendo as lceras usualmente ml-
tiplas e localizadas frequentemente em zonas atpicas (esfago, duodeno distal e jeju-
no proximal).
So complicaes frequentes: perfurao, estenose pilrica, hemorragia e fstula gas-
trojejunoclica.
A lcera pptica pode ser antecedida de um quadro de m absoro e diarreia, moti-
vado pela produo excessiva de cido clordrico.
Se a sndrome controlada e o tumor excisado, o prognstico excelente. Se ocor-
rem metstases no fgado ou noutros locais, a sobrevida aos 5 anos pode atingir os
20%.
VIPoma (Sindrome de Verner-Morrison)
As manifestaes clnicas deste tumor, que se localiza no pncreas em 90% dos casos,
devem-se libertao excessiva de VIP (vasoactive intestinal peptide), embora outras
substncias tenham sido implicadas na patognese desta sndrome (secretina, poli-
peptdeo pancretico, prostaglandinas, etc.).
Sintomas clnicos: diarreia aquosa profusa (100%), hipocalimia (90-100%) e desidra-
tao. A acloridria (70%) foi acrescentada a esta sndrome, da o acrnimo WDHA
(watery diarrhea, hypokalemia, achlorydria). Outros sinais e sintomas associados:
hiperglicmia (25-50%), hipercalcmia (25%) e flushing (25%).
Mais de 60% destes tumores so malignos. O diagnstico estabelece-se mediante a
existncia de diarreia (>700 ml/dia, persistindo em jejum e sendo isotnica) associa-
da a nveis plasmticos elevados de VIP (normal, 0-170 pg/ml).
Glucaginoma
Trata-se de um tumor que liberta glucagina em quantidades excessivas, e que se loca-
liza no pncreas em cerca de 95% dos casos.
Quadro clnico: rash caracterstico (eritema migratrio necroltico, 70-85%), intolern-
cia glicose ou diabetes (85%), hipoaminoacidmia (80-90%), perda de peso (85%),
anemia (85%), diarreia (15%), fenmenos tromboemblicos (20%) e glossite (15%).
A sintomatologia insidiosa, pelo que o diagnstico tardio. Este baseia-se na pre-
Doenas do Aparelho Digestivo
794
sena de nveis plasmticos elevados de glucagina (normal, 0-150 pg/ml). Os valores
devem exceder os 500 pg/ml para comprovao do diagnstico, dado que algumas
situaes clnicas podem apresentar nveis de glucagina moderadamente elevados.
o caso da diabetes, da insuficincia renal, da bacterimia e da sndrome de Cushing).
Taxa de malignizao: 50-80%.
Somatostatinoma
um tumor que liberta somatostatina em excesso. Em 90% dos casos localiza-se no
pncreas, e em 10% no intestino.
Quadro clnico: litase biliar (95%), diabetes mellitus (95%) e diarreia (92%). Outras
manifestaes: esteatorreia (80%), hipocloridria (85%) e perda de peso (90%). Em
mais de 70% dos casos ocorre malignizao.
O diagnstico requer um elevado nvel de suspeio (trade de litase, diabetes e diar-
reia), associado a valores elevados de somatostatina plasmtica.
6 TRATAMENTO
A TUMORES SEM METSTASES
Insulinoma
A resseco cirrgica pode ser bem sucedida em 70-90% dos casos.
Nos doentes que aguardam interveno cirrgica, as manobras dietticas so impor-
tantes para evitar crises de hipoglicmia: aumentar a frequncia de refeies/dia e for-
necer hidratos de carbono lentamente absorvveis (po, batata, arroz).
O diazxido o frmaco mais utilizado no tratamento da hipoglicmia relacionada
com o insulinoma.
Gastrinoma
Recomenda-se a exrese cirrgica do tumor em todos os casos sem MEN-I.
H controvrsia quanto ao papel da cirurgia nos gastrinomas integrados na sndrome
MEN-I. Alguns especialistas no recomendam laparotomia de rotina, outros advogam-na,
e ainda outros defendem a atitude cirrgica s em tumores com dimenso > 2.5 3 cm
de dimetro.
VIPoma
A primeira medida a correco das anomalias hidro-electrolticas.
Segunda medida: tratar a diarreia com prednisolona (>60 mgr/dia) ou utilizando o
octretido, um anlogo sinttico da somatostatina.
Dado que mais de 50% dos doentes apresentam metstases na altura do diagnsti-
co, a resseco cirrgica s vivel numa minoria dos casos.
PNCREAS - Tumores do Pncreas
795
Glucaginoma
Mais de 60% apresentam metstases na altura do diagnstico, pelo que, aqui tam-
bm, a resseco cirrgica s possvel numa fraco dos doentes.
essencial a correco pr-operatria da hipoaminoacidmia (nutrio) e da anemia.
Tambm importante prescrever medidas para preveno de fenmenos tromboem-
blicos (heparina subcutnea).
Somatostatinoma
Sempre que possvel, procurar resolver o problema com resseco cirrgica.
B TUMORES COM METSTASES
Teraputica hormonal
A utilizao do octretido, em doses dirias variveis, tem sido ensaiada no tratamen-
to dos tumores endcrinos, com base em dados experimentais que sugerem um
potencial efeito antiproliferativo deste frmaco. Os resultados obtidos indicam que o
octretido evidencia um efeito benfico na estabilizao do processo neoplsico.
Mais recentemente tem sido ensaiado o octretido de aco retardada, a Sandostatina
Lar. Aguardam-se os resultados de ensaios teraputicos em curso.
Interfero
ainda controversa a eficcia do interfero-a no tratamento dos tumores endcrinos.
Teria algum efeito benfico, segundo alguns trabalhos, quer na reduo do tumor,
quer na sua estabilizao. Propem alguns autores a sua associao ao octretido,
uma vez que estes frmacos actuam por diferentes mecanismos. Ainda no h dados
para uma avaliao correcta desta associao.
Quimioterpia
No momento actual, parece que a estreptozotocina em combinao com a doxorubi-
cina representa a melhor escolha quimioteraputica no tratamento dos tumores neu-
roendcrinos. Alguns autores propem a substituio da doxorubicina pelo 5-FU, por
este frmaco ser menos txico. Em doentes com glucaginoma, a dacarbazina ser a
melhor opo.
Embolizao arterial heptica
A ocluso da artria heptica tem sido sugerida por alguns autores, em face da limi-
tada eficcia das opes teraputicas atrs referidas. Os resultados at agora obtidos,
sobretudo com a associao da embolizao a drogas citotxicas, justificam a conti-
nuao do seu estudo.
Transplantao heptica
Os estudos at agora efectuados permitem concluir que o transplante poder ser uma
Doenas do Aparelho Digestivo
796
opo teraputica para os tumores carcinides, mas parece no ser til em doentes
com tumores neuroendcrinos do pncreas.
No remate desta exposio sobre os tumores neuroendcrinos do pncreas, julgamos
til a sinopse seguinte, um algoritmo sobre a abordagem deste tipo de tumores:
PNCREAS - Tumores do Pncreas
797
Cintigrafia com Octretido
Teste de estimulao
Sndrome clssico Sintomas inespecficos
Cromogranina
Polipeptdeo pancretico
Marcadores especficos
? Metstases
difusas
Sem metstases
hepticas
Follow-up
RM
ou
TC
Angiografia
Eco-endoscopia Cirurgia
-
-
+
+
+ -
+
+
+
-
-
-
Bipsia
heptica
Metstases
difusas
Tratamento
mdico
+
TUMOR NEUROENDCRINO
Sintomas paroxsticos
Doenas do Aparelho Digestivo
798
REFERNCIAS
Cello JP. Pancreatic Cancer. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds). Sleisenger & Fordtrans Gastrointestinal and Liver
Disease. W.B. Saunders Co. 1998:863-870.
Jensen T, Norton JA. Endocrine tumors of the pancreas. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (Eds). Sleisenger & Fordtrans
Gastrointestinal and Liver Disease. W.B. Saunders Co. 1998:871-894.
Grendell JH. Clinical aspects of pancreatic cancer. In: Rustgi AK (Ed). Gastrointestinal Cancers. Lippincott-Raven 1995:293-300.
Levin B. Pancreatic adenocarcinoma. In: Wolfe MM (Ed) Therapy of Digestive Disorders. W.B. Saunders Co. 2000:247-251.
Valle JD. Treatment of neuroendocrine tumors of the pancreas. In: Wolfe MM (Ed) Therapy of Digestive Disorders.
W.B. Saunders Co. 2000:259-274.
Tumors of the exocrine tissue: pancreatic cancer (part 6). In: Berger HG, Warshaw AL, Bchler MW et al (Eds). The Pancreas. Blackwell
Science 1998:889-1172.
Endocrine tumors of the pancreas (part 7). In: Berger HG, Warshaw AL, Bchler MW et al (Eds). The Pancreas. Blackwell Science 1998:1183-
1286.
Testoni PA, Tittobello A (Eds). Endoscopy in pancreatic disease: diagnosis and therapy. Mosby-Wolfe, Milan 1997.
Lowenfels AB, Maisonneuve P, Lankisch G. Chronic pancreatitis and other risk factors for pancreatic cancer.
Gastroenterol Clin N Am 1999;28(3):673-686.
Barkin JS, Goldstein JA. Diagnostic approach to pancreatic cancer. Gastroenterol Clin N Am 1999;28(3):709-722.
Freeny PC. Pancreatic Imaging: new modalities. Gastroenterol Clin N Am 1999;28(3):723-746.
Bhutami MS. Endoscopic ultrasound in pancreatic diseases: indications, limitations, and the future.
Gastroenterol Clin N Am 1999;28(3):747-770.
Modlin IM, Tang LH. Approaches to the diagnosis of gut neuroendocrine tumors: the last word (today). Gastroenterology 1997;11:583-590.
Eskelinen M, Haglund U. Developments in serologic detection of human pancreatic adenocarcinoma. Scand J Gastroenterol 1999;9:833-844.
Claro I, Nobre Leito C, Mides Correia J et al. Tumores neuroendcrinos do pncreas e tubo digestivo alto. Localizao por ecoendoscopia.
GE J Port Gastroenterol 1998;5(2):99-104.
Sakorafas GH, Tsiotos GG. Molecular biology of pancreatic cancer: potential clinical implications. BioDrugs. 2001;15(7):439-52.
Crane CH, Wolff RA, Abbruzzese JL, et al. Combining gemcitabine with radiation in pancreatic cancer: understanding important variables
influencing the therapeutic index. Semin Oncol. 2001 Jun;28(3 Suppl 10):25-33.
Halloran CM, Ghaneh P, Neoptolemos JP, Costello E. Gene therapy for pancreatic cancer-current and prospective strategies.
Surg Oncol. 2000 Dec;9(4):181-91.
Lieberman SM, Horig H, Kaufman HL. Innovative treatments for pancreatic cancer. Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):715-39.
Kozuch P, Petryk M, Evans A, Bruckner HW. Treatment of metastatic pancreatic adenocarcinoma: a comprehensive review.
Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):683-90.
Wagman R, Grann A. Adjuvant therapy for pancreatic cancer: current treatment approaches and future challenges.
Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):667-81.
Molinari M, Helton WS, Espat NJ. Palliative strategies for locally advanced unresectable and metastatic pancreatic cancer.
Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):651-66.
Poon RT, Fan ST. Opinions and commentary on treating pancreatic cancer. Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):625-36.
Cooperman AM. Pancreatic cancer: the bigger picture. Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):557-74.
Sarmiento JM, Nagomey DM, Sarr MG, Farnell MB. Periampullary cancers: are there differences? Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):543-55.
Brentjens R, Saltz L. Islet cell tumors of the pancreas: the medical oncologists perspective. Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):527-42.
Azimuddin K, Chamberlain RS. The surgical management of pancreatic neuroendocrine tumors. Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):511-25.
Sarr MG, Kendrick ML, Nagorney DM, Thompson GB, Farley DR, Farnell MB. Cystic neoplasms of the pancreas: benign to malignant epithelial
neoplasms. Surg Clin North Am. 2001 Jun;81(3):497-509.
Permert J, Hafstrom L, Nygren P, Glimelius B. A systematic overview of chemotherapy effects in pancreatic cancer.
Acta Oncol. 2001;40(2-3):361-70.
Gunzburg WH, Salmons B. Novel clinical strategies for the treatment of pancreatic carcinoma. Trends Mol Med. 2001 Jan;7(1):30-7.
van Heertum RL, Fawwaz RA. The role of nuclear medicine in the evaluation of pancreatic disease. Surg Clin North Am. 2001 Apr;81(2):345-58.
Cohen SA, Siegel JH. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography and the pancreas: when and why?
Surg Clin North Am. 2001 Apr;81(2):321-8.
Megibow AJ, Lavelle MT, Rofsky NM. MR imaging of the pancreas. Surg Clin North Am. 2001 Apr;81(2):307-20.
Hruban RH, Canto MI, Yeo CJ. Prevention of pancreatic cancer and strategies for management of familial pancreatic cancer.
Dig Dis. 2001;19(1):76-84.
Ridwelski K, Meyer F. Current options for palliative treatment in patients with pancreatic cancer. Dig Dis. 2001;19(1):63-75.
Gasslander T, Arnelo U, Albiin N, Permert J. Cystic tumors of the pancreas. Dig Dis. 2001;19(1):57-62.
Ozawa F, Friess H, Kunzli B, Shrikhande SV, Otani T, Makuuchi M, Buchler MW. Treatment of pancreatic cancer: the role of surgery.
Dig Dis. 2001;19(1):47-56.
Ebert M, Schandl L, Schmid RM. Differentiation of chronic pancreatitis from pancreatic cancer: recent advances in molecular diagnosis.
Dig Dis. 2001;19(1):32-6.
Luttges J, Kloppel G. Update on the pathology and genetics of exocrine pancreatic tumors with ductal phenotype: precursor lesions and
new tumor entities. Dig Dis. 2001;19(1):15-23.
Simon B, Printz H. Epidemiological trends in pancreatic neoplasias. Dig Dis. 2001;19(1):6-14.
Zamora C, Sahel J, Cantu DG, et al. Intraductal papillary or mucinous tumors (IPMT) of the pancreas: report of a case series and review of
the literature. Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1441-7.
Waxman I. Endosonography for differentiating benign from malignant intraductal mucinous tumors of the pancreas: is the jury out?
Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1323-5.
Chastain MA. The glucagonoma syndrome: a review of its features and discussion of new perspectives.
Am J Med Sci. 2001 May;321(5):306-20.
Sohn TA, Yeo CJ. The molecular genetics of pancreatic ductal carcinoma: a review. Surg Oncol. 2000 Nov;9(3):95-101.
Chappuis PO, Ghadirian P, Foulkes WD. The role of genetic factors in the etiology of pancreatic adenocarcinoma: an update.
Cancer Invest. 2001;19(1):65-75.
Taheri S, Meeran K. Islet cell tumours: diagnosis and medical management. Hosp Med. 2000 Dec;61(12):824-9.
PNCREAS - Tumores do Pncreas
799
Luttges J, Kloppel G. Precancerous conditions of pancreatic carcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2000;7(6):568-74.
Heinemann V. Gemcitabine: progress in the treatment of pancreatic cancer. Oncology. 2001;60(1):8-18.
Lo CY, Lo CM, Fan ST. Role of laparoscopic ultrasonography in intraoperative localization of pancreatic insulinoma.
Surg Endosc. 2000 Dec;14(12):1131-5.
Chun J, Doherty GM. Pancreatic endocrine tumors. Curr Opin Oncol. 2001 Jan;13(1):52-6.
Krinsky ML, Binmoeller KF. EUS-guided investigational therapy for pancreatic cancer. Gastrointest Endosc. 2000 Dec;52(6 Suppl):S35-8.
Brennan MF. Pancreatic cancer. J Gastroenterol Hepatol. 2000 Oct;15 Suppl:G13-6.
Schmied BM, Zgraggen K, Redaelli CA, Buchler MW. Problems in staging of pancreatic and hepatobiliary tumours.
Ann Oncol. 2000;11 Suppl 3:161-4.
Lygidakis NJ. Pancreatic cancer: current factors and options to determine future research. Hepatogastroenterology. 2000 Jul-Aug;47(34):1170-5.
Ischia S, Polati E, Finco G, Gottin L. Celiac block for the treatment of pancreatic pain. Curr Rev Pain. 2000;4(2):127-33.
Cooperman AM, Kini S, Snady H, Bruckner H, Chamberlain RS. Current surgical therapy for carcinoma of the pancreas.
J Clin Gastroenterol. 2000 Sep;31(2):107-13.
Chowdhury P, Rayford PL. Smoking and pancreatic disorders. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Aug;12(8):869-77.
Hruban RH, Goggins M, Parsons J, Kern SE. Progression model for pancreatic cancer. Clin Cancer Res. 2000 Aug;6(8):2969-72.
Ginsberg GG. New developments in pancreatic cancer. Semin Gastrointest Dis. 2000 Jul;11(3):162-7.
Oberg K. Interferon in the management of neuroendocrine GEP-tumors: a review. Digestion. 2000;62 Suppl 1:92-7.
Arnold R, Simon B, Wied M. Treatment of neuroendocrine GEP tumours with somatostatin analogues: a review.
Digestion. 2000;62 Suppl 1:84-91.
Rougier P, Mitry E. Chemotherapy in the treatment of neuroendocrine malignant tumors. Digestion. 2000;62 Suppl 1:73-8.
Rindi G, Villanacci V, Ubiali A. Biological and molecular aspects of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors.
Digestion. 2000;62 Suppl 1:19-26.
Davis B, Lowy AM. Surgical management of hereditary pancreatic cancer. Med Clin North Am. 2000 May;84(3):749-59.
Howes N, Greenhalf W, Neoptolemos J. Screening for early pancreatic ductal adenocarcinoma in hereditary pancreatitis.
Med Clin North Am. 2000 May;84(3):719-38.
Brentnall TA. Cancer surveillance of patients from familial pancreatic cancer kindreds. Med Clin North Am. 2000 May;84(3):707-18.
Ulrich CD 2nd. Growth factors, receptors, and molecular alterations in pancreatic cancer. Putting it all together.
Med Clin North Am. 2000 May;84(3):697-705.
Kern SE. Molecular genetic alterations in ductal pancreatic adenocarcinomas. Med Clin North Am. 2000 May;84(3):691-5.
Brand RE, Lynch HT. Hereditary pancreatic adenocarcinoma. A clinical perspective. Med Clin North Am. 2000 May;84(3):665-75.
Rosenberg L. Pancreatic cancer: a review of emerging therapies. Drugs. 2000 May;59(5):1071-89.
Hawes RH, Xiong Q, Waxman I, et al. A multispecialty approach to the diagnosis and management of pancreatic cancer.
Am J Gastroenterol. 2000 Jan;95(1):17-31.
Hart AR. Pancreatic cancer: any prospects for prevention? Postgrad Med J. 1999 Sep;75(887):521-6.
Jensen RT, Gibril F. Somatostatin receptor scintigraphy in gastrinomas. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1999 Oct;31 Suppl 2:S179-85.
Tio TL. Endoscopic ultrasonography in patients with gastrinomas. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1999 Oct;31 Suppl 2:S172-8.
Kloppel G, Solcia E, Capella C, Heitz PU. Classification of neuroendocrine tumours. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1999 Oct;31 Suppl 2:S111-6.
DiMagno EP, Reber HA, Tempero MA. AGA technical review on the epidemiology, diagnosis, and treatment of pancreatic ductal
adenocarcinoma. American Gastroenterological Association. Gastroenterology. 1999 Dec;117(6):1464-84.
Barkin JS, Goldstein JA. Diagnostic approach to pancreatic cancer. Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):709-22.
Lowenfels AB, Maisonneuve P, Lankisch PG. Chronic pancreatitis and other risk factors for pancreatic cancer.
Gastroenterol Clin North Am. 1999 Sep;28(3):673-85.
Andren-Sandberg A, Viste A, Horn A, Hoem D, Gislason H. Pain management of pancreatic cancer. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:265-8.
Wagner M, Dikopoulos N, Kulli C, Friess H, Buchler MW. Standard surgical treatment in pancreatic cancer.
Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:247-51.
Jensen RT. Pancreatic endocrine tumors: recent advances. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:170-6.
DiMagno EP. Pancreatic cancer: clinical presentation, pitfalls and early clues. Ann Oncol. 1999;10 Suppl 4:140-2.
Sakorafas GH, Tsiotou AG, Sarr MG. Intraoperative celiac plexus block in the surgical palliation for unresectable pancreatic cancer.
Eur J Surg Oncol. 1999 Aug;25(4):427-31.
Ectors N. Pancreatic endocrine tumors: diagnostic pitfalls. Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr;46(26):679-90.
Degen L, Beglinger C. The role of octreotide in the treatment of gastroenteropancreatic endocrine tumors. Digestion. 1999;60 Suppl 2:9-14.
Você também pode gostar
- Anemia Falciforme e Comorbidades Associadas na Infância e na AdolescênciaNo EverandAnemia Falciforme e Comorbidades Associadas na Infância e na AdolescênciaAinda não há avaliações
- CASOS CLÍNICOS 4 - Distúrbios Do Equilíbrio Hidroletrolítico e Ácido-BaseDocumento7 páginasCASOS CLÍNICOS 4 - Distúrbios Do Equilíbrio Hidroletrolítico e Ácido-BaseSamille Ferreira100% (1)
- AtividadesDocumento75 páginasAtividadesZelilton JúniorAinda não há avaliações
- 2 Monitorização Hemodinâmica Invasiva Do Doente CríticoDocumento69 páginas2 Monitorização Hemodinâmica Invasiva Do Doente CríticoBruno MiguelAinda não há avaliações
- Aula 03 - Incontinência Urinária em IdososDocumento30 páginasAula 03 - Incontinência Urinária em IdososLeticia Chaves100% (1)
- Manual De Rotinas E Procedimentos Fisioterapêuticos Em Unidade De Tratamento IntensivaNo EverandManual De Rotinas E Procedimentos Fisioterapêuticos Em Unidade De Tratamento IntensivaAinda não há avaliações
- Prova Fisiologia - Daniel DallabridaDocumento3 páginasProva Fisiologia - Daniel DallabridaRoni FazanAinda não há avaliações
- Resumo Sobre Cálculo Das Dosagens de MedicamentosDocumento5 páginasResumo Sobre Cálculo Das Dosagens de MedicamentosEdu SilvaAinda não há avaliações
- Pediatria - Manual Merck - 17 Ed PDFDocumento353 páginasPediatria - Manual Merck - 17 Ed PDFNaná Zaffari100% (1)
- Exame de UrinaDocumento7 páginasExame de UrinaKeyla CostaAinda não há avaliações
- Manual Coleta Marco 2020Documento164 páginasManual Coleta Marco 2020Sandro NadineAinda não há avaliações
- Algorítmo - Dor AbdominalDocumento7 páginasAlgorítmo - Dor AbdominalRicardo CunhaAinda não há avaliações
- Fisiologia GastrointestinalDocumento12 páginasFisiologia GastrointestinalDaniele Rodrigues100% (1)
- Doenças Do Sistema CirculatórioDocumento18 páginasDoenças Do Sistema CirculatórioIGOR FREITAS REISAinda não há avaliações
- Microbiologia MédicaDocumento91 páginasMicrobiologia MédicaTássia Bueno100% (1)
- Bio Slide Sitema DigestorioDocumento24 páginasBio Slide Sitema DigestorioGiovana GutierresAinda não há avaliações
- Sistema Digestório - 8º AnosDocumento10 páginasSistema Digestório - 8º AnosMaura EduardaAinda não há avaliações
- Sistema Gastrointestinal Do IdosoDocumento69 páginasSistema Gastrointestinal Do IdosoCamila Helena MadiaAinda não há avaliações
- Cipesc UNIPLANDocumento33 páginasCipesc UNIPLANRoberta Gondim100% (1)
- Modulo XII - Processo de Envelhecimento - Caderno Do Discente 2019Documento25 páginasModulo XII - Processo de Envelhecimento - Caderno Do Discente 2019Dany JunqueiraAinda não há avaliações
- Anatomia e Fisiologia CetepDocumento138 páginasAnatomia e Fisiologia CetepLichtAinda não há avaliações
- Abdome Agudo InflamatórioDocumento41 páginasAbdome Agudo Inflamatóriodanilogodoy04Ainda não há avaliações
- Sinais Vitais Semiótica FMUPDocumento36 páginasSinais Vitais Semiótica FMUPMateusRibeiro160% (1)
- Fígado-Anatomia e HistologiaDocumento12 páginasFígado-Anatomia e HistologiaGiulia Bizi Oliveira100% (1)
- Aula 8 - Função Renal Métodos DialiticosDocumento21 páginasAula 8 - Função Renal Métodos DialiticosJoana Rita MendesAinda não há avaliações
- Sebenta - GastroenterologiaDocumento43 páginasSebenta - GastroenterologiaNuno AmadoAinda não há avaliações
- FisiopatologiaDocumento56 páginasFisiopatologiaRaquel FonsecaAinda não há avaliações
- Caderno de EstudoFinalDocumento265 páginasCaderno de EstudoFinalJoana da Rosa100% (1)
- Etica CetepDocumento48 páginasEtica CetepLichtAinda não há avaliações
- A IMPORTÂNCIA DA VITAMINA D NO PROCESSO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS - Versao FinalDocumento70 páginasA IMPORTÂNCIA DA VITAMINA D NO PROCESSO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS - Versao FinalPaulo Sergio RochinskiAinda não há avaliações
- Caso Clínico - GastroenterologiaDocumento16 páginasCaso Clínico - GastroenterologiaJosé ZéAinda não há avaliações
- TCC Corrigido (Falta Metodologia, Conclusão)Documento17 páginasTCC Corrigido (Falta Metodologia, Conclusão)Thaylon DiasAinda não há avaliações
- Uso Clinico Do SangueDocumento372 páginasUso Clinico Do SangueRute RibeiroAinda não há avaliações
- Termos CirurgicosDocumento8 páginasTermos CirurgicosClaudiaRuasAinda não há avaliações
- Modulen ChronDocumento20 páginasModulen ChronEliane Moreira0% (1)
- Sebenta Semiologia e PatologiaDocumento199 páginasSebenta Semiologia e Patologiablitzcano100% (1)
- Doenças Do Sist. DigestorioDocumento10 páginasDoenças Do Sist. DigestorioJonathan SilvaAinda não há avaliações
- Semiologia RenalDocumento6 páginasSemiologia RenalPedro CardosoAinda não há avaliações
- Doenças GastrointestinaisDocumento124 páginasDoenças GastrointestinaisGeovane Santos100% (1)
- Semiologia Do Aparelho RespiratorioDocumento91 páginasSemiologia Do Aparelho RespiratorioLuciana Batalha Sena100% (1)
- Plano de Aula Síndromes Cromossômicas, Sociedade.Documento7 páginasPlano de Aula Síndromes Cromossômicas, Sociedade.SergiopsantosAinda não há avaliações
- Cirurgia Aparelho Digestivo - Estomago CompletoDocumento252 páginasCirurgia Aparelho Digestivo - Estomago CompletoRebeka BustamanteAinda não há avaliações
- Fisiologia Humana II Apostila (Conteúdo)Documento70 páginasFisiologia Humana II Apostila (Conteúdo)RosaAinda não há avaliações
- Aula 4 - NOCÕES DE ELETROCARDIOGRAMA PDFDocumento64 páginasAula 4 - NOCÕES DE ELETROCARDIOGRAMA PDFPaty_nunesAinda não há avaliações
- Livro Sbu Revisado 2Documento192 páginasLivro Sbu Revisado 2Degasperi DegasperiAinda não há avaliações
- 023 - Traumatismo Raquimedular - Versão Junho 2020Documento34 páginas023 - Traumatismo Raquimedular - Versão Junho 2020Wagner OseasAinda não há avaliações
- Metabolismo de Vitamina DDocumento9 páginasMetabolismo de Vitamina DVinícius Oliveira100% (1)
- Exames de Urina Parte 1Documento16 páginasExames de Urina Parte 1Luana Cardoso100% (1)
- Biologia PPT - LipídiosDocumento50 páginasBiologia PPT - LipídiosBiologia ppt100% (7)
- Semiologia Do AbdomeDocumento59 páginasSemiologia Do AbdomeAbu Shington Al-Adami100% (1)
- Resumo Clínica Cirúrgica md9 7.0 PDFDocumento167 páginasResumo Clínica Cirúrgica md9 7.0 PDFRoberta100% (1)
- Nutrição Nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTDocumento20 páginasNutrição Nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTcleusawm100% (1)
- IntussuscepçãoDocumento48 páginasIntussuscepçãoJoão Mateus100% (1)
- Sistema Imune e Hematologico 1Documento39 páginasSistema Imune e Hematologico 1Edson Allan100% (1)
- Cap-08 Vias AereasDocumento14 páginasCap-08 Vias Aereasapi-3704607100% (10)
- Clínica Médica - Protocolo CompletoDocumento139 páginasClínica Médica - Protocolo CompletoSuely Souza CoutinhoAinda não há avaliações
- Anatomia das veias gastrocnêmias em cadáveres humanos adultosNo EverandAnatomia das veias gastrocnêmias em cadáveres humanos adultosAinda não há avaliações
- Recuperação da frequência cardíaca após diferentes protocolos de treino em circuito: relação com a variabilidade da frequência cardíaca de repouso em mulheres pós-menopausadas fisicamente ativasNo EverandRecuperação da frequência cardíaca após diferentes protocolos de treino em circuito: relação com a variabilidade da frequência cardíaca de repouso em mulheres pós-menopausadas fisicamente ativasAinda não há avaliações
- Fisiologia Cardiorrespiratória Ensino SuperiorNo EverandFisiologia Cardiorrespiratória Ensino SuperiorAinda não há avaliações
- Dor na Coluna Vertebral: fatores determinantes entre dor na coluna vertebral e a sua relação com achados radiológicos em idososNo EverandDor na Coluna Vertebral: fatores determinantes entre dor na coluna vertebral e a sua relação com achados radiológicos em idososAinda não há avaliações
- Síndromes hipertensivas na gestação e suas complicações a longo prazoNo EverandSíndromes hipertensivas na gestação e suas complicações a longo prazoAinda não há avaliações
- Posicionamentos Radiologicos Membros InferioresDocumento44 páginasPosicionamentos Radiologicos Membros InferioresValeria Vasques100% (1)
- Cirurgia Parendodôntica PDFDocumento56 páginasCirurgia Parendodôntica PDFmaronilsonsoaresAinda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema NervosoDocumento51 páginasAnatomia Do Sistema NervosoRegiane C. GrossiAinda não há avaliações
- Etiologia e Tratamento Da PeriimplantiteDocumento8 páginasEtiologia e Tratamento Da PeriimplantiteFernando Amado Jr.Ainda não há avaliações
- Fosforila Ço OxidativaDocumento9 páginasFosforila Ço OxidativaNathana VenancioAinda não há avaliações
- O Liquido SinovialDocumento18 páginasO Liquido SinovialLuciano Rodrigues SimoesAinda não há avaliações
- Relatorio Anestesicos LocaisDocumento8 páginasRelatorio Anestesicos LocaisGéffeson MacêdoAinda não há avaliações
- Carbunculo HemáticoDocumento63 páginasCarbunculo HemáticofmodriAinda não há avaliações
- Atividade 1 - Bedu - Anatomia Aplicada A Educação FísicaDocumento2 páginasAtividade 1 - Bedu - Anatomia Aplicada A Educação FísicaGerlane SilvaAinda não há avaliações
- Power Point CitologiaDocumento30 páginasPower Point CitologiaNabia CuryAinda não há avaliações
- Resumo Guyton (Cap. 60)Documento3 páginasResumo Guyton (Cap. 60)Jomar BorgesAinda não há avaliações
- MonotremadosDocumento26 páginasMonotremadosCarlos Henrique Antunes100% (1)
- Sebenta TeóricaDocumento48 páginasSebenta TeóricaAna RibeiroAinda não há avaliações
- 5 Sist. CardiovascularDocumento16 páginas5 Sist. CardiovascularDomingos Hernane MudenderAinda não há avaliações
- Questão Aula de CN - Sistema Digestivo Aves e Ruminantes - UniversaisDocumento4 páginasQuestão Aula de CN - Sistema Digestivo Aves e Ruminantes - UniversaisVera Monica Mateus PauloAinda não há avaliações
- Biblia Do EstrogenioDocumento6 páginasBiblia Do EstrogenioLuiz Claudio Vitoria FilhoAinda não há avaliações
- Aula 7 Posicao em Leito Cirurgico, Transporte de PacienteDocumento30 páginasAula 7 Posicao em Leito Cirurgico, Transporte de PacienteEllen OliveiraAinda não há avaliações
- OTOSCLEROSEDocumento8 páginasOTOSCLEROSEMariana Cabral100% (2)
- Amamentação para IniciantesDocumento9 páginasAmamentação para IniciantesjonascarvAinda não há avaliações
- Pneumotorax CompletoDocumento22 páginasPneumotorax CompletoNatanael PiresAinda não há avaliações
- As Biomoléculas São Moléculas Resultantes Dos MetabolismosDocumento2 páginasAs Biomoléculas São Moléculas Resultantes Dos MetabolismosJoão GabrielAinda não há avaliações
- MGSd6 Regras TioLipeDocumento21 páginasMGSd6 Regras TioLipeJeferson Moreira0% (1)
- OsmoseDocumento4 páginasOsmoseTiciana Leite CostaAinda não há avaliações
- Apostila PulsologiaDocumento12 páginasApostila Pulsologiathgufba100% (1)
- Artigo Traduzido Bordoni e Myers PDFDocumento5 páginasArtigo Traduzido Bordoni e Myers PDFMaíra Drago CorreiaAinda não há avaliações
- Portfólio de Neuroanatomia 17 SemanaDocumento13 páginasPortfólio de Neuroanatomia 17 SemanaIgor Silva50% (2)
- Quadro EFEITOS FISIOLÓGICOS E EMOCIONAIS DAS CORES - Resumo CromoterapiaDocumento3 páginasQuadro EFEITOS FISIOLÓGICOS E EMOCIONAIS DAS CORES - Resumo CromoterapiaSarah Romi100% (1)