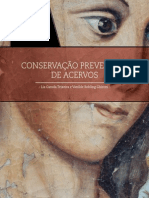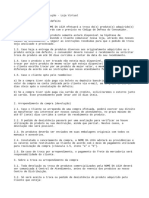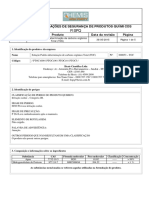Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DOWN 151904conservacao Preventiva 1
DOWN 151904conservacao Preventiva 1
Enviado por
Guilherme LeãoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DOWN 151904conservacao Preventiva 1
DOWN 151904conservacao Preventiva 1
Enviado por
Guilherme LeãoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CONSERVAO PREVENTIVA
DE ACERVOS
COLEO
ESTUDOS
MUSEOLGICOS
Volume 1
.: Lia Canola Teixeira e Vanilde Rohling Ghizoni :.
Lia Canola Teixeira
Licenciada em Educao Artstica - Habili-
tao Artes Plsticas, UDESC - 1982. Espe-
cialista em Conservao de Obras em Papel
- UFPR, 1999. Filiada a Associao Brasileira
de Conservadores e Restauradores de Bens
Culturais, ABRACOR, Rio de Janeiro, desde
1994. Filiada a Associao Catarinense de
Conservadores e Restauradores de Bens
Culturais. Florianpolis, desde 1993. Scia
proprietria da empresa Memria Conser-
vao-Restaurao de Bens Culturais Ltda.,
Florianpolis.
Vanilde Rohling Ghizoni
Conservadora-Restauradora de Bens Cul-
turais Mveis. Licenciada em Educao
Artstica - Artes Plsticas, UDESC, 1988;
Especialista em Conservao de Obras de
Arte sobre Papel - UFPR, 1999; Mestre em
Arquitetura da UFSC, 2011; Fez estgio em
Tratamentos Especfcos em Obras de Arte
Contempornea - Museu Nacional Centro
de Arte Reina Sofa - Ministrio da Cultura
da Espanha, 2007. Foi scia proprietria da
empresa Memria Conservao-Restaura-
o de Obras de Arte. Atualmente Restau-
radora da Universidade Federal de Santa
Catarina. Ao longo dos anos atuou junto a
vrias instituies museolgicas por meio
de projetos e consultorias.
COLEO ESTUDOS MUSEOLGICOS
Volume 1
CONSERVAO PREVENTIVA DE ACERVOS
Lia Canola Teixeira e Vanilde Rohling Ghizoni
Florianpolis, 2012
Ficha Catalogrfca elaborada por Esni Soares da Silva
CRB - 14/704
T266c TEIXEIRA, Lia Canola
Conservao preventiva de acervos / Lia Canola
Teixeira, Vanilde Rohling Ghizoni - Florianpolis: FCC, 2012.
74p. il. 19cm (Coleo Estudos Museolgicos, v.1)
ISBN: 978-85-85641-12-2
1. Conservao de acervos 2. Museus - conservao 3. Conservao
de acervos museolgicos I. GHIZONE, Vanilde Rohling II. Ttulo III.
Coleo.
CDD 069.53
CDU 069
REVISO GRAMATICAL
Dbora Silveira de Souza Cardoso
Erclito Pereira
PROJETO GRFICO E DIAGRAMAO
Moyss Lavagnoli
ISBN da coleo: 978-85-85641-11-5
GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Joo Raimundo Colombo
SECRETRIO DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Celso Antonio Calcagnotto
PRESIDENTE DA FUNDAO CATARINENSE DE CULTURA
Joceli de Souza
DIRETORA DE PRESERVAO DO PATRIMNIO CULTURAL
Andra Marques Dal Grande
COORDENADOR DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS
Maurcio Rafael
EQUIPE TCNICA DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS
Erclito Pereira
Marli Fvero
Renata Cittadin
Renilton Roberto da Silva Mattos de Assis
GERNCIA DE LOGSTICA DE EVENTOS E MARKETING
Luis Carlos Enzweiler
ASSESSORIA DE COMUNICAO
Marilene Rodrigues
Fernanda Peres
COLEO ESTUDOS MUSEOLGICOS
COORDENAO EDITORIAL
Andra Marques Dal Grande
Maurcio Rafael
/ PALAVRA DO PRESIDENTE DA FCC
A Fundao Catarinense de Cultura - FCC, enquanto rgo execu-
tor das polticas pblicas culturais no Estado, vem desenvolvendo
constantes aes estruturantes com o objetivo de preservar a me-
mria e valorizar a produo e a difuso cultural.
Um dos focos de nossa ateno se concentra na qualifcao e
promoo dos museus, equipamentos que registram a histria e
identidade cultural de nossa sociedade. Diariamente, esses espa-
os coletam, organizam e armazenam bens culturais de inmeras
tipologias e constituies, que necessitam de condies adequa-
das de conservao para que possam continuar contribuindo na
difuso das memrias individuais e coletivas, por meio dos acer-
vos nelas salvaguardados.
Dessa forma e atendendo aos anseios dos profssionais atuan-
tes nos museus inseridos em Santa Catarina, apresentamos esta
publicao com orientaes sobre conservao de acervos mu-
seolgicos, cujo maior objetivo instrumentalizar o trabalho de-
senvolvido pelos valorosos tcnicos desses importantes espaos
culturais.
Florianpolis (SC), novembro de 2012.
Joceli de Souza
Presidente
/ AP R E S E NTAO
Quando o homem compreende sua realidade, pode le-
vantar hipteses sobre o desafo dessa realidade e pro-
curar solues... assim, pode transform-la e com seu
trabalho pode criar um mundo prprio: seu eu e suas
circunstncias.
Paulo Freire
1
Fato museolgico: conceito desenvolvido pela professora e museloga paulistana Waldsia Russio Guarnieri (1935-
1990). Waldsia argumentava que os acervos museolgicos deveriam servir ao estudo crtico de uma realidade e
no mais sacralizados e isolados dentro de vitrines de museus, desprovidos de um contexto histrico e social.
O campo museolgico catarinense est em expanso. O novo cenrio abre-se s mu-
danas do setor e necessidade de desenvolver aes que propiciem refexes sobre
procedimentos tcnicos que auxiliem os museus a desempenhar suas funes bsicas:
salvaguardar, pesquisar e comunicar seus acervos, promovendo a relao social entre
homem e objeto
1
.
Entretanto algumas lacunas ainda so percebidas dentro das instituies museais. A
escassez de equipe tcnica especializada, os parcos recursos materiais e fnanceiros,
bem como a falta de qualifcao de alguns profssionais para o desenvolvimento de
atividades de preservao dos bens culturais que impedem o alcance - de forma exitosa
- das reais funes dos museus.
Portanto, atendendo a uma das diretrizes da Poltica Estadual de Museus, que versa
sobre a orientao e valorizao dos profssionais de museus, a Fundao Catarinense
de Cultura (FCC), por meio do Sistema Estadual de Museus (SEM/SC), lana a Coleo
Estudos Museolgicos. Anualmente ser publicado um volume, trazendo tona refe-
xes, ideias e prticas sobre temas pertinentes aos museus e que possibilitem o forta-
lecimento dessas instituies.
Este primeiro volume agrega orientaes e procedimentos bsicos para a conservao
preventiva e a gesto de riscos de acervos museolgicos. Agradecemos Lia Canola
Teixeira e Vanilde Rohling Ghizoni, autoras desta publicao, por partilhar seus co-
nhecimentos tcnicos nesta rea.
Nossos agradecimentos tambm so direcionados ao Museu de Arqueologia e Etnologia
Professor Oswaldo Rodrigues Cabral da UFSC, ao Museu de Arte de Santa Catarina, ao
Museu Etnogrfco Casa dos Aores e ao Museu Sacro da Capela do Menino Deus pela
cesso das imagens ilustrativas que acompanham os textos.
Maurcio Rafael
Coordenador do Sistema Estadual de Museus (SEM/SC)
11
/ S UMR I O
1 INTRODUO
2 FATORES AMBIENTAIS E A CONSERVAO DE ACERVOS
2.1 Temperatura e Umidade Relativa
2.2 Monitorando a temperatura e umidade relativa
2.3 Equipamentos para monitoramento da umidade relativa e da temperatura
2.4 Iluminao
2.5 Manuseio de objetos museolgicos
2.6 Armazenamento
2.7 Transporte e embalagem
2.8 Segurana em museus
2.9 Limpeza dos espaos
2.10 Procedimentos de conservao
3 CONSERVAO DE ACERVOS MUSEOLGICOS
3.1 Materiais de suporte orgnico:
3.1.1 Pintura sobre tela
3.1.2 Papel
3.1.3 Madeira
3.1.4 Material etnogrfco
3.1.5 Taxidermia
3.1.6 Couro
3.1.7 Txteis
3.2 Materiais de suporte inorgnico:
3.2.1 Metais
3.2.7 Materiais cermicos
3.2.8 Vidro
4. RESTAURAO
REFERNCIA BIBLIOGRFICA
10.......
13.......
15.......
16.......
18.......
19.......
21.......
24.......
26.......
28.......
29.......
30.......
33.......
33.......
33.......
37.......
45.......
48.......
50.......
50.......
51.......
52.......
54.......
59.......
62.......
65.......
68.......
12
/ 1 I NT R ODUO
Atualmente h grande conscientizao em relao preservao do
patrimnio histrico, artstico e cultural, reconhecendo e valorizando
os acervos mantidos nos museus e instituies afns. Dessa forma, o
museu responsvel pela preservao de suas colees, pressupondo a
guarda, a segurana e a disponibilizao para pesquisa e apreciao es-
ttica por meio de exposies e em condies adequadas. Aes estas,
que possibilitam instituio museolgica democratizar seu acervo,
tornando-o socialmente protegido e amplamente usufrudo.
13
Portanto, esta publicao aborda a conservao de acervos museolgi-
cos trazendo questes relacionadas aos fatores que causam a deteriora-
o dos materiais, condies ambientais de armazenagem e exposio,
tipos de materiais e procedimentos de conservao para vrios tipos de
suporte.
Este material foi elaborado a partir de bibliografa pertinente, de nossa
experincia profssional e contribuir para esclarecer dvidas, estimu-
lar a criao de projetos e aes relacionadas com a preservao dos
acervos dos museus em Santa Catarina.
As autoras
14
15
/ 2 FATOR E S AMB I E NTAI S E A
C ONS E RVAO DE AC E RVOS
O estado de conservao de um objeto est intrinsicamente ligado ao material no qual
foi elaborado, na tcnica construtiva e na trajetria das condies de armazenagem e
exposio. Quando um objeto mantido em condies adequadas na armazenagem e
exposio, os fatores de degradao so estabilizados, necessitando apenas a sua ma-
nuteno com procedimentos preventivos de conservao, como higienizao, controle
de micro-organismos e insetos, embalagens de proteo, manuseio correto, entre outros.
Em situaes adversas, o processo de deteriorao pode instalar-se, necessitando de
uma interveno que estabilize e repare os danos ocorridos no objeto. Nesses casos,
preciso profssional especializado em restaurao que possa fazer diagnstico do esta-
do de conservao, avaliando as condies fsicas da obra, o grau de deteriorao em
que se encontra e a possibilidade de interveno restauradora.
Os procedimentos de conservao devem ter prioridade sobre os de restaurao, que
s dever ser realizada quando for estritamente necessrio. A manuteno das caracte-
rsticas originais da obra deve ser uma constante preocupao, buscando a interveno
mnima, e, dentro do possvel, o restabelecimento de sua integridade fsica e esttica.
A degradao de um objeto um processo natural de envelhecimento e resultante de
reaes que ocorrem em sua estrutura, na busca de um equilbrio fsico-qumico com
o ambiente. Alm do processo natural, existem os fatores externos que podem acelerar
a deteriorao, principalmente nos materiais orgnicos. Os fatores ambientais so as
causas principais da deteriorao dos materiais e infuenciam diretamente na perma-
nncia do objeto.
Como o controle ambiental fator determinante, Toledo (2011, p. 1) defne-o:
[...] como o estudo e o conhecimento do desempenho do edifcio, e a tomada
de medidas que minimizem os efeitos de condies atmosfricas externas e
em seu interior. O controle ambiental est condicionado a vrios fatores: cli-
ma local, edifcio (suas caractersticas fsicas, materiais construtivos, uso etc.),
coleo (suas caractersticas fsicas, materiais construtivos, uso etc.), dos re-
cursos institucionais (humanos e fnanceiros), tipo de acesso s colees pelos
visitantes (caractersticas, nmero e frequncia etc).
Atualmente um dos principais desafos no campo da conservao preventiva dos mate-
riais constitutivos de acervos museolgicos o controle da deteriorao qumica, danos
mecnicos e a biodeteriorao. Podem-se citar os seguintes fatores externos:
16
fsicos: temperatura, umidade relativa do ar, luz natural ou artifcial;
qumicos: poeira, poluentes atmosfricos e o contato com outros materiais ins-
tveis quimicamente;
biolgicos: micro-organismos, insetos, roedores e outros animais;
antrpicos: manuseio, armazenamento e exposio incorreta, interveno ina-
dequada, vandalismo e roubo;
catstrofes: inundaes, terremotos, furaces, incndios e guerras.
A fnalidade de aprofundar o conhecimento de um determinado objeto museolgico
consiste em conhecer esse objeto, para que era utilizado, qual o material usado e como
foi confeccionado, e, ainda, como se relaciona com outros objetos similares. A com-
preenso desse objeto est baseada na pesquisa e estudo, necessitando, na maioria das
vezes, exames e anlises fsico-qumicas para datao, comprovao de autenticidade,
composio qumica dos materiais constituintes e de interveno restauradora que an-
tecederam a entrada do objeto na instituio. Portanto, os objetos so valorizados pelo
que se pode aprender com eles (BRADLEY, 1994, p. 20).
Os acervos, de maneira geral, so constitudos de objetos variados, compostos dos mais
diferentes materiais e tcnicas, muitas vezes num nico objeto, o que difculta o traba-
lho de conservao dos profssionais.
Podemos dividir os materiais que constituem os objetos dos acervos museolgicos em
dois grupos:
materiais orgnicos: uma grande parte dos objetos dos museus constituda
por materiais orgnicos, como por exemplo: papel, pergaminho, couro, txteis, f-
bras vegetais e animais, madeira, tela etc.;
materiais inorgnicos: a outra parte dos objetos que constituem os acervos mu-
seolgicos composta por materiais inorgnicos, como: pedras, metais, vidros,
cermicas, porcelanas etc.
17
// 2.1 Temperatura e Umidade Relativa
A umidade relativa e a temperatura em ndices inadequados so as principais causas de
degradao de acervos, e a ao em conjunto destes fatores contribuem para desenca-
dear ou acelerar o processo de degradao dos objetos.
A ao da umidade relativa nos materiais que compem os objetos dos acervos pode
estar associada aos seguintes fatores:
mudanas de forma e tamanho por dilatao e contrao;
reaes qumicas que ocorrem em presena de umidade;
biodeteriorao.
As mudanas de temperatura e umidade relativa do ar prejudicam o acervo, princi-
palmente os objetos higroscpicos, que tendem a dilatar e contrair em funo das va-
riaes de umidade. Estas variaes dimensionais causam tenses internas no objeto
gerando deformaes, fssuras e empenamento nos mesmos.
Em reservas tcnicas e espaos de exposies o indicado
que os ndices de umidade relativa e temperatura permane-
am o mais estvel possvel, pois as variaes destas condi-
es so as principais causas de deteriorao dos acervos.
A corroso dos objetos em metal causada por reaes qumicas que acontecem em
presena de umidade. A gua um dos reagentes principais nos processos de corroso,
tanto em sua forma lquida ou gasosa. Os processos de corroso dos metais podem
ser acelerados em presena de poluentes do meio ambiente, como a brisa do mar que
contm sais e cloretos. Em reas industrializadas a presena de poluentes como o di-
xido de enxofre e de nitrognio tambm so fatores determinantes para a corroso dos
metais, devido formao de cidos sulfricos e ntricos, que catalisam os processos
de corroso.
Os papis e os txteis em condies de umidade relativa elevada esto sujeitos a rea-
es de hidrlise
2
, causando a deteriorao das fbras e dos materiais e a perda de sua
resistncia mecnica.
Ambientes com clima quente e mido so extremamente favorveis a infestaes. As-
sociada umidade, a biodeteriorao
3
ocorre em condies de umidade relativa acima
2
Diminuio do tamanho das molculas por reaes qumicas em presena de gua.
3
Deteriorao de materiais por fungos e microrganismos que utilizam luz e umidade como fonte de energia e
produzem pigmentos que causam o escurecimento de objetos.
18
de 70%, ndice em que a ocorrncia de fungos provvel, alm do desenvolvimento de
microorganismos que, por consequncia atraem insetos. A maioria dos materiais org-
nicos, tais como papis, colas, leos, gomas, couros, fbras vegetais, pergaminhos, entre
outros, servem de alimento a agentes biolgicos, como fungos, roedores, bactrias, li-
quens, insetos etc.
Insetos xilfagos, como os cupins e as brocas, so cada vez mais resistentes a diferentes
tipos de combate, como por exemplo, os inseticidas normalmente utilizados; alm de
prejudicar a sade de quem os manuseia.
Fig. 2.1: Exemplos de biodeteriorao - ataque de cupim em objeto etnogrfco e obra em papel
4
.
// 2.2 Monitorando a temperatura e umidade relativa
O conhecimento das condies do ambiente de armazenagem, ou exposio de uma
coleo num museu, somente ser obtido com exatido por meio do monitoramento e
o registro das condies do ambiente. Uma vez organizados e avaliados os dados cole-
tados na etapa de monitoramento possvel planejar o controle das condies do local.
Importante salientar que equipamentos de monitoramento da umidade relativa e da
temperatura no realizam o controle.
4
Fotos: Vanilde Rohling Ghizoni.
19
Basicamente, para posterior controle das condies ambientais so necessrios os se-
guintes passos:
monitoramento: por meio de equipamentos, com registro em horrios estabe-
lecidos anteriormente, coleta de dados da umidade relativa e temperatura do
ambiente;
caracterizao do ambiente: tratamento dos dados obtidos no monitoramento;
comparao entre os dados nos diferentes espaos de exposio e armazenagem
do museu, para classifc-las de acordo com as caractersticas climticas;
avaliao dos resultados: devem ser ponderados por meio de uma integrao
com outros dados do local onde esto armazenados ou expostos os acervos;
implantao de sistema e procedimentos que melhorem as condies do am-
biente de armazenagem e de exposio.
A climatizao do ambiente de fundamental importncia para os museus, tendo em
vista a necessidade de condies climticas apropriadas para conservao do acervo e
de tratamento especial de acordo com sua especialidade. O aparelhamento das institui-
es museolgicas com equipamentos adequados para permitir a melhoria na realiza-
o de seus trabalhos e atendimento ao pblico deve ser priorizado. Para tanto, torna-se
necessria a contratao de profssional que tenha conhecimento em climatizao de
ambientes e preservao de colees.
O sistema de climatizao deve estar ligado durante 24 horas por dia, inclusive nos dias
que o museu estiver fechado. Este cuidado deve ser observado, considerando que os
acervos no podem sofrer grandes variaes de temperatura e umidade.
O controle climtico em museus difere dos demais sistemas
de condicionadores de ar. Deve principalmente controlar,
alm da temperatura, a taxa e a variao de umidade relativa.
20
Procedimentos que podem minimizar danos aos objetos:
observar a colocao correta dos objetos numa exposio, longe de correntes de
ar, de portas e janelas, de plantas ornamentais e de velas;
manter o mobilirio de armazenagem ou exposio afastado das paredes, bus-
cando circulao de ar;
evitar um nmero muito grande de visitantes na mesma sala de exposio e
tambm a presena com roupas e calados molhados, evitando alterao nas
condies climticas do ambiente;
no usar vassoura e pano mido na limpeza do cho das salas de exposio e da
reserva tcnica, o ideal a utilizao de aspirador de p;
realizar inspees peridicas nos espaos, verifcando as condies das paredes
e dos telhados, observando a presena de entrada de umidade (rachaduras, go-
teiras e infltraes);
proibir funcionrios de fumar, comer ou armazenar alimentos nas reas de ex-
posio, nas reservas tcnicas e reas de conservao.
// 2.3 Equipamentos para monitoramento
da umidade relativa e da temperatura
Psicrmetro: mede a umidade relativa do ar mediante a diferena de tempe-
ratura de dois termmetros, um que mede a temperatura do ambiente (bulbo
seco) e outro que possui a sua superfcie coberta com gua em evaporao (bulbo
mido).
Higrmetro mecnico: funciona baseado nas mudanas dimensionais de seus
sensores sensveis a umidade como: madeira, cabelo, pele e membrana animal,
polmeros e txteis.
Higrmetro e termohigrmetro eletrnico: o sensor composto por sal higrosc-
pico, que muda suas propriedades eltricas dependendo da UR.
Fig. 2.2: Modelos de equipamentos para monitoramento da umidade relativa e da temperatura.
21
Os modelos de higrmetros e termohigrmetros eletrnicos desenvolveram-se muito
nos ltimos anos, priorizando cada vez mais a exatido das informaes registradas
pelos data-loggers
5
. Os data-loggers podem ser programados por um computador para
registrar os valores de UR e T em intervalos de tempo regulares.
Fig. 2.3: Modelo de termohigrmetro eletrnico.
As planilhas e grfcos resultantes do monitoramento das
condies do ambiente so muito importantes para que o
conservador possa tomar decises com segurana e esta-
belecer uma rotina de trabalho que vise a longevidade do
acervo. Esta planilha deve ter as horas do dia em funo
dos dias do ms, onde so anotados os dados de umidade
relativa e temperatura. Estes dados podem ser inseridos
em um grfco onde sero observadas as mdias dirias,
semanais e mensais de temperatura e umidade relativa.
// 2.4 Iluminao
A incidncia de radiao da luz natural e artifcial prejudicial aos objetos, uma vez que
seus efeitos so cumulativos e irreversveis, provocando danos irreversveis, capaz de
fragilizar os materiais constitutivos dos objetos, introduzindo um processo de envelhe-
cimento acelerado. Por exemplo, nos objetos orgnicos a luz provoca a modifcao das
cores e amarelecimento, mas tambm afeta a resistncia mecnica dos materiais, como
a perda de elasticidade nos tecidos.
A luz natural do sol emite radiao visvel e uma grande quantidade de ultravioleta
(UV) e infravermelho (IV). As lmpadas incandescentes produzem radiao visvel, uma
quantidade grande de raios infravermelhos sob a forma de calor e pouca radiao ultra-
violeta. J os tubos fuorescentes produzem radiaes visveis, poucos raios IV e grande
quantidade de UV.
Para reduzir a deteriorao da superfcie o mximo possvel, precisamos controlar a
iluminao, adotando alguns procedimentos:
manter as cortinas e persianas fechadas, para evitar que os raios solares incidam
diretamente sobre os objetos expostos ou armazenados;
utilizar o dispositivo arquitetnico brise-soleil
6
na edifcao, para impedir a inci-
dncia direta de radiao solar no interior do edifcio de forma a evitar a mani-
festao de calor excessivo;
5
Equipamentos que registram e armazenam dados vindos analgica ou digitalmente.
6
Dispositivo arquitetnico utilizado para impedir a incidncia direta de radiao solar nos interiores de um edi-
fcio, de forma a evitar no local a manifestao de um calor excessivo.
22
usar fltros especiais em tom apropriado para uso em museus, aderidos aos vi-
dros para barrar a entrada de radiao ultravioleta, de forma a reduzir os efeitos
fotoqumicos. Substituir periodicamente os fltros, conforme orientao do fa-
bricante;
cobrir as vitrines, caso o material seja extremamente sensvel luminosidade;
usar a iluminao indireta como recurso expositivo;
reduzir a iluminao artifcial ao mnimo possvel nos locais das reservas tcni-
cas e exposies. O ideal manter as luzes apagadas quando no tiver visitantes
na exposio e no estiver realizando atividade no local de reserva tcnica;
as lmpadas incandescentes devem ser fxadas longe do objeto exposto, e as
forescentes, apesar de no emitirem calor, devem ser usadas com fltros para
radiao UV e no esquecer que o reator emite calor;
evitar a utilizao de equipamentos com emisso de fashs diretamente sobre o
objeto, pois apresentam uma concentrao em raios UV e IV.
No h material completamente imune degradao causada pela luz, sendo muito
importante enfatizarmos que, todo material orgnico afetado quando submetido a
algum tipo de iluminao.
Segundo a tabela de referncia
7
, os valores mximos de iluminao para materiais sens-
veis luz so os seguintes:
objetos frgeis: o valor mximo aceitvel de 5 a 50 lux
8
(papis de livros e do-
cumentos, papis com diferentes tcnicas como desenhos, aquarelas, pastis;
fotografas, couros, txteis, pinturas, tapearia, tecido, indumentrias, plumas e
pena etc);
objetos menos frgeis: aceitvel uma intensidade luminosa de at 150 lux
(objetos em madeira, gesso, telas etc.);
objetos mais resistentes: como as pedras e metais (onde se quer ressaltar deta-
lhes) so aceitveis uma intensidade de at 300 lux.
Para medir a radiao visvel utiliza-se um instrumento denominado luxmetro, que
mede a energia que o olho humano percebe. Como o olho no percebe radiao UV e IR,
este aparelho no serve para estes tipos de radiao.
O medidor de UV usado como complemento do luxmetro. Depois de medir a ilumi-
nncia, deve-se medir a proporo de UV na luz. Quando a medio da proporo de
radiao UV numa fonte de luz ultrapassar 75 W/lm, necessrio utilizar um fltro de
absoro de UV.
7
Valores baseados em referncia bibliogrfca: DALAMBERT, Clara Correia; MONTEIRO, Marina Garrido; FERREI-
RA, Silva Regina. Conservao, postura e procedimento. So Paulo: Secretaria do Estado da Cultura do Estado de
So Paulo, s/ data, p. 100.
8
Lux (smbolo lx): no Sistema Internacional de Unidades a unidade de iluminamento. Corresponde incidncia
perpendicular de 1 lmen em uma superfcie de 1 metro quadrado.
23
H vrias alteraes causadas pelo aumento de tempera-
tura, onde este atua como fator de acelerao da degra-
dao dos acervos. Por exemplo, o seu efeito na umidade
relativa pela secagem do ar (seja pela luz direta do sol ou
de uma fonte artifcial).
Substancialmente, toda radiao, visvel ou invisvel,
absorvida por um objeto, seja luz do dia ou artifcial,
convertida em calor. A fonte de luz diretamente sobre
um determinado objeto vai aquec-lo acima da tempe-
ratura ambiente, causando danos como o surgimento de
craquels
9
e empenamentos.
// 2.5 Manuseio de objetos museolgicos
Na maioria das vezes, muitos danos irreversveis no acervo so causados por pessoas
inabilitadas durante o manuseio. Os objetos pertencentes ao museu, sejam quadros, es-
culturas, mobilirios, documentos, entre outros, apresentam caractersticas e fragilida-
de em algum aspecto especfco, podendo sofrer danos fsicos de diferentes naturezas,
sendo necessrios cuidados especiais, tais como:
todo objeto museolgico, antes de ser transportado, deve passar por um processo
de avaliao do seu estado de conservao e, caso seja inevitvel o manuseio, ga-
rantir o mximo de segurana neste procedimento. Somente pessoas capacita-
das para a tarefa e autorizadas pela instituio devem manipular estes objetos;
evitar o uso de materiais que possam manchar, descolorir, abrasonar, infamar,
rabiscar os objetos que esto sendo manipulados.
utilizar lpis 6B e borracha, em caso de serem feitas anotaes e registros em
locais prximos s obras que esto sendo manipuladas;
no verso da obra nunca se deve anotar, marcar, carimbar e fxar papis e etique-
tas com dados da obra;
o uso de guarda-p indicado para quem vai manipular os objetos. Retirar anis,
pulseiras, relgios e cintos, pois podem causar algum dano ao objeto. No caso de
cabelos compridos, tambm se deve ter o cuidado de prend-los para no cau-
sar acidentes e que fos caiam sobre o objeto. As mos devem estar limpas, sem
qualquer creme, cobertas por luvas brancas de algodo ou cirrgicas;
9
Tipo de rachadura que ocorre no verniz, na camada pictrica, na base de preparao ou nas trs simultanea-
mente. Pode ser causado por tenso que se desenvolve durante vrios processos, desde a secagem at o enve-
lhecimento, choque trmico e mecnico, entre outros.
Fig. 2.4: Modelo de luxmetro.
24
o objeto deve sempre ser carregado com as duas mos, sendo que o apoio da
pea deve estar na palma das mos e dos dedos. Nunca se deve carregar um
objeto pelas partes mais frgeis. Acessrios e partes complementares do objeto
devem ser manuseados separadamente;
no fumar prximo dos acervos, pois o objeto poder ser danifcado pelo contato,
pelas cinzas e pela fumaa, alm do risco de incndio;
em caso de acidente, somente o restaurador autorizado pela instituio poder
recuperar o objeto danifcado.
Cada tipologia de acervo estabelece suas prprias regras para o manuseio e so defni-
das de acordo com o material e a tcnica que constituem os seus objetos, como veremos
a seguir:
As esculturas devem ser manuseadas pela base, sempre que for possvel, com uma das
mos segurando com estabilidade o corpo, na parte mais apropriada. Nunca se deve
movimentar ou levantar esculturas por partes mais frgeis, como braos, pernas e ex-
tremidades. E quando for de grande dimenso ou muito pesada, dever ser manuseada
por mais pessoas. O indicado que a instituio tenha um carrinho pra fazer o desloca-
mento da obra, minimizando o risco de acidentes. Estes cuidados devem ser adotados
para qualquer objeto tridimensional, independente do tipo de material que constitua
o objeto.
Os quadros devem ser carregados individualmente, segurando pela moldura ou chassi,
evitando apoiar no suporte da tela. A parte da frente da tela, a pintura, no deve ser
apoiada pelos dedos de quem a carrega. As pinturas sobre telas fexveis devem ser en-
roladas somente em casos especiais. Neste caso, utilizar cilindro grosso, com a superf-
cie da pintura protegida com material adequado, que pode ser desde um papel alcalino
ou neutro, tecido tipo TNT
10
ou similar. A camada pictrica deve sempre fcar voltada
para fora, desta forma ser distendida e no comprimida. Pinturas com empastes muito
grossos no podero ser enroladas, pois ocorrero danos e provvel perda de material.
Para manipular obras em papel no emolduradas, segurar pelas extremidades superio-
res, mesmo assim em operaes que no indiquem deslocamento da obra para outro
local. Quando for deslocar formatos maiores para outros espaos fsicos, utilizar uma
base rgida como apoio, entre folhas de carto ou folders. Obras em papel nunca devem
ser enroladas e se for extremamente necessrio, usar cilindro grosso.
10
TNT a sigla para Tecido No Tecido, um tecido classifcado como um no tecido. produzido a partir de
fbras desorientadas que so aglomeradas e fxadas, no passando pelos processos txteis mais comuns que
so fao e tecelagem (ou malharia). H basicamente dois tipos distintos, os durveis e os no durveis, po-
dendo ambos serem produzidos a partir de fbras naturais (p. ex.: algodo, l) ou sintticas (p. ex.: polister,
polipropileno).
25
Fig. 2.5: Cuidados especiais para deslocamento de obra de arte sobre papel
11
.
Os tecidos devem ser manuseados na horizontal, apoiados sobre os dois braos ou so-
bre superfcie rgida e protegida com material adequado.
Para os acervos fotogrfcos recomenda-se a reproduo dos originais como medidas
de preservao, reduzindo assim o manuseio dos mesmos. Usar lpis 6B caso seja estri-
tamente necessrio algum tipo de registro, sempre no verso da imagem. No usar cli-
pes, grampos, colas, ftas adesivas, etiquetas em nenhum dos lados da fotografa. Apoiar
a fotografa na palma da mo, segurando pelas bordas, e de forma nenhuma, inserir os
dedos na imagem.
11
Foto do Museu de Arqueologia e Etnologia Professor Oswaldo Rodrigues Cabral - Universidade Federal de
Santa Catarina (MArquE/UFSC).
26
// 2.6 Armazenamento
As reservas tcnicas devem ser espaos seguros, com ampla porta de acesso, para en-
trada e sada das obras em grandes formatos. Os pisos e revestimentos devero ser
fceis de limpar e no infamveis. No seu espao ou prximo, no devem passar canos
de gua e nem fos de alta tenso.
O mobilirio deve ser distribudo de maneira que permita a ventilao e manuteno
do edifcio, sendo aconselhvel manter um corredor, de no mnimo 1 metro de largura,
entre as estantes e as paredes.
As esculturas devem ser mantidas em mobilirios de metal, fechados ou abertos, com
as prateleiras revestidas com material para proteo e acomodao, do tipo ethafoan
12
ou similar. Se necessrio, acomodar o objeto em um bloco deste material escavado na
forma do mesmo.
Os quadros devem ser mantidos na posio vertical e em trainis. Quando forem encos-
tados a uma parede, os maiores fcam posicionados atrs e os menores na frente e in-
tercalados com alguma proteo. Devem ser colocados face com face e verso com verso.
As pinturas sobre tela nunca devem servir de apoio para outro objeto, para no ocorrer
danos com a camada pictrica, como afundamentos, craquels e rupturas. As obras de-
vem fcar apoiadas sobre uma base, tipo estrado, para evitar contato direto com o piso.
Fig. 2.6: Espao de reserva tcnica para obras bidimensionais, com mobilirio em forma de trainis
13
.
12
Espuma de polietileno de clulas fechadas, altamente resistente umidade.
13
Reserva Tcnica do Museu de Arte de Santa Catarina (MASC).
Foto: Mrcio Henrique Martins
27
As obras em papel devem ser guardadas em mapotecas, e acondicionadas individual-
mente primeiro, tipo passe-partout
14
e/ou com envelope, somente depois ser colocada
outra obra sobre a anterior. O passe-partout oferece proteo e facilidade para o manu-
seio, alm de estar preparada para montagem em moldura no momento da exposio.
Quando uma obra precisa ser retirada da gaveta, remover todas as anteriores que esti-
verem sobrepostas.
Os txteis nunca devem ser
guardados em sacos plsticos.
Recomenda-se que sejam acon-
dicionados na horizontal e sem
dobras, envolvidos em papel
adequado ou tecidos de algodo
branco, sem goma, armazenado
em gavetas ou em estantes de
metal. Os cabides devem ter boa
sustentao, ser acolchoados e
forrados com tecido de algodo;
caso sejam utilizados para in-
dumentrias. Objetos como cha-
pus, bolsas e sapatos devem re-
ceber enchimento para que no
surjam deformaes, dobras e
vincos.
Cada fotografa deve ter uma
proteo individual, sendo que o
material de proteo da imagem
deve ser de papel alcalino ou neu-
tro ou em plstico de alta quali-
dade. Os negativos e diapositivos
tambm devem ser acondiciona-
dos em invlucros individuais fa-
bricados com materiais especiais.
O mobilirio para armazenagem
de fotografas deve ser de metal
com pintura polimerizada.
As ftas eletromagnticas no podem ser guardadas em armrios metlicos, devido
ao risco de propagao de cargas eletromagnticas, causando danos irreversveis aos
registros.
Os flmes a base de nitrato de celulose devem ser acondicionados separadamente por
sofrerem combusto espontnea, sendo que os gases gerados no processo de decompo-
sio do nitrato de celulose so nocivas s demais fotografas. O cheiro caracterstico de
cido actico (similar ao odor de vinagre) a indicao de que o processo de degradao
14
Borda de carto que contorna uma obra sobre papel ou tela quando da incluso da moldura. Sua principal fun-
o (obra emoldurada com vidro) criar um espao para evitar o contato do vidro com a obra.
15
Foto do Museu de Arqueologia e Etnologia Professor Oswaldo Rodrigues Cabral - Universidade Federal de Santa
Catarina (MArquE/UFSC).
Fig. 2.7: Armazenamento e acondicionamento de obras de
arte sobre papel em mapotecas
15
.
28
est presente, sendo necessria a duplicao imediata e medidas que no coloquem o
restante do acervo em risco.
Materiais etnogrfcos devem ser armazenados em mobilirios fechados, de prefern-
cia, e em mapotecas. Dependendo da fragilidade da pea, confeccionar caixas em carto
neutro para o acondicionamento ou proteger com embalagens em tecido de algodo,
ethafoan ou similar.
// 2.7 Transporte e embalagem
O transporte de acervos museolgicos envolve uma srie de riscos aos objetos do mu-
seu, por isso o cuidado com a embalagem, a preparao para o embarque e a seleo
do meio de transporte essencial para a segurana do trabalho. O embarque deve ser
iniciado quando todos os objetos estiverem embalados adequadamente, com seus res-
pectivos laudos do estado de conservao.
Objetos que sairo da instituio para participarem de exposio extramuros devem ser
acondicionados em caixas de madeira ou similar, com alas e sistema de fechamento
(lacre). A embalagem deve ser maior em cada dimenso de no mnimo 10 centmetros
em relao ao objeto a ser transportado. O interior da caixa deve ser revestido com ma-
terial tipo ethafoan, esponja ou isopor, completando os espaos vazios, com focos, ou
mesmo modelando a parte interna da caixa no formato da pea.
As telas com suporte fexvel devem ser protegidas e estabilizadas contra as vibraes
com isopor ou material similar.
O objeto deve ser embalado antes de ir para a caixa com material especfco e adequado,
tipo papel no-woven (entretela de papel sem goma), algodo, papel neutro ou alcalino.
Partes pontiagudas e salientes das esculturas devem ser protegidas, isto , acolchoadas,
e os espaos vazios preenchidos. Os vidros das molduras devem ser encobertos por
malhas de fta crepe, para garantir maior proteo obra, no caso da quebra do mesmo.
Fig 2.8:
Embalagens de peas tridi-
mensional e bidimensional
para transporte
16
.
29
As embalagens devem ser marcadas em seu exterior com instrues que facilitem o
manuseio. As marcaes devem ser convencionais, claras e legveis.
Fig. 2.9: Smbolos convencionais de transporte: frgil, para cima, sensvel ao calor e sensvel
umidade.
16
Foto: Vanilde Rohling Ghizoni.
30
O transporte deve ser realizado por empresas especializadas, com equipe capacitada
para executar o trabalho com cuidado, proporcionando a maior estabilidade possvel
ao objeto. Assim mesmo, deve ser observado se o caminho recebeu as adequaes
necessrias, como pisos e laterais acolchoadas por materiais que amorteam vibraes,
golpes, impacto de maneira geral. As obras devem sair da instituio acompanhadas
pelo conservador-restaurador ou responsvel pelo acervo e protegidas por seguro em
caso de sinistro.
// 2.8 Segurana em museus
A segurana em museus, de maneira geral, envolve cuidados de proteo contra incn-
dio, roubo e depredaes, proteo contra danos causados por condies de guarda e
exposio inadequadas e medidas para salvaguarda contra catstrofes. Estes cuidados
devem ser observados e implantados prontamente, e no depois que o incidente ocor-
reu com o objeto.
O acervo museolgico deve ser monitorado por vigilncia eletrnica e por vigilantes,
ininterruptamente. Os vigilantes devem ser capacitados para observar os objetos e o
ambiente, relatando se algo estranho ou anormal esteja acontecendo.
Um funcionrio da instituio deve ser designado como
chefe da segurana, responsvel pelo cumprimento das nor-
mas estabelecidas para segurana do acervo e coordenar as
funes dos vigilantes, que muitas vezes so terceirizados e
mudam com frequncia.
Desta forma, os seguintes procedimentos so recomendados:
os objetos no devem ser manipulados ou tocados, devendo ser apenas observa-
dos pela vigilncia;
manuteno do ambiente e higienizao de objetos expostos somente no dia
especfco em que o museu no atender ao pblico. No espao de exposio ou
de guarda a vigilncia deve acompanhar os servios de terceiros.
vistoria das obras em exposio antes de abrir e fechar o museu, relatando pos-
sveis anormalidades e alteraes;
observar o fechamento correto de portas e janelas aps o fechamento do museu
ao pblico;
31
controle permanente das reas de acesso ao pblico, em especial das salas de
exposio, sendo que o visitante deve deixar seus pertences na recepo, em
guarda-volumes;
servio de segurana eletrnica, por meio de alarmes, sistema de televiso em
circuito fechado etc.;
instalao de extintores
17
e detectores de fumaa, com obrigatoriedade da ma-
nuteno peridica;
qualifcao da equipe para que, em caso de sinistro, estejam preparadas para
agir preventivamente. Garantir acesso dos vigilantes aos telefones de emergn-
cia (responsvel pelo museu, polcia, bombeiros);
as normas de segurana, de comportamento e de procedimentos de emergncia
devem fcar visveis ao pblico do museu.
// 2.9 Limpeza dos espaos
A limpeza das salas de exposio, reservas tcnicas, sala de conservao e de restaura-
o deve se restringir ao espao fsico, pois os objetos no devem ser tocados.
A equipe de limpeza deve receber orientaes para os procedimentos, observando o
cuidado necessrio exigido para a ao. O responsvel, sempre que possvel, deve acom-
panhar os servios.
O profssional da limpeza, quando bem orientado, torna-se
um aliado na identifcao de problemas e nas aes de
conservao.
Recomendam-se os seguintes cuidados na execuo dos trabalhos:
usar aspirador de p para no levantar poeira, caso necessite pano mido, este
deve ser bem torcido;
no esbarrar nas peas, mobilirio e paredes, cuidando com o uso de escadas e
outros objetos quando se vai fazer alguma manuteno;
avisar o responsvel caso observe manchas de umidade, goteiras, vazamentos e
rachaduras;
observar a presena de excrementos de insetos xilfagos, asas de insetos, traas
e pequenos orifcios prximos s obras, mobilirios ou no piso do museu.
17
Os agentes extintores mais empregados na extino de incndio so: gua, espuma, gs carbnico e p qu-
mico seco. Deve ser observada a classe do incndio para o uso adequado.
32
// 2.10 Procedimento de conservao
Todo profssional responsvel pela conservao de acervos de um museu precisa esta-
belecer uma rotina de trabalho que vise a conservao preventiva. Umas das aes mais
rotineiras executada diretamente nos objetos a higienizao mecnica, que consiste
na eliminao da sujidade, como poeiras e partculas slidas que se depositam sobre
a superfcie do objeto, limpando de forma cuidadosa, o que evita danos futuros obra.
importante ressaltar que ao observar qualquer despendimento o procedimento deve
ser imediatamente interrompido, pois aes inadequadas podem causar danos graves,
muitas vezes irreversveis.
Qualquer procedimento de higienizao dever ser executado com guarda-p, luvas,
mscaras e culos de proteo, evitando a contaminao do profssional por fungos. O
museu deve dispor de uma mesa especfca para higienizao do acervo, de preferncia
com dispositivo que aspire as partculas de sujidades eliminadas.
Fig. 2.10: Procedimento de higienizao com trincha
18
.
18
Foto: Acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia Professor Oswaldo Rodrigues Cabral - Universidade Federal
de Santa Catarina (MArquE/UFSC).
33
34
35
/ 3 C ONS E RVAO DE
AC E RVOS MUS E OL G I C OS
// 3.1 Materiais de suporte orgnico
/// 3.1.1 PINTURA SOBRE TELA
Tela um suporte de tecido vegetal, como o linho, algodo, cnhamo ou juta, esticado
num chassi (armao de madeira encaixada) por meio de pregos, tachas ou grampos
metlicos. Sobre o tecido esticado aplicada uma base de preparao
19
, cujo objetivo
proteger a tela da ao dos leos que so empregados nas tintas que podem degradar
o tecido.
O chassi mais adequado aquele que possui as quatro rguas chanfradas, para evitar
que parte do tecido da tela encoste-se madeira causando marcas; com cunhas, que
so colocadas nos ngulos reto no verso do chassi, para distender a armao e esticar o
tecido, caso seja necessrio.
19
Nas telas mais antigas essa base era composta por gesso e cola protica de cartilagens animais. No sc. XIX as
telas passaram a receber uma base de preparao base de gesso, cola e leo.
36
Figuras 3.1: Detalhe de chassi com cunha
20
.
Algumas tcnicas de pintura
Pintura a leo: tem como base a utilizao de pigmentos modos aglutinados
com certos leos, tais como linhaa, nozes e de dormideira. A terebentina
acrescentada para tornar algumas cores mais fuidas e transparentes. A tcnica
a leo pode receber, no fnal, uma camada de verniz como proteo para as cores,
sendo os mais comuns as resinas naturais, como o copal, o mbar e o damar,
dissolvidos em terebentina.
Tmpera: utiliza pigmentos secos misturados com aglutinante, como goma ar-
bica, gema de ovo e da casena, que tem o poder de fxar os pigmentos sobre o
suporte, geralmente tela ou madeira.
20
Fotos: Memria Conservao Restaurao de Bens Culturais Ltda.
37
Encustica: a tcnica que usa pigmentos misturados na cera, aplicado quente
sobre o suporte, que, em geral, um tecido de algodo aderido sobre painel de
madeira.
Pintura acrlica: tcnica moderna, baseada em produtos sintticos de natureza
acrlica, feita pela disperso dos pigmentos. No txica, sua diluio a base
de gua e de secagem rpida.
Fig. 3.2: Pintura leo sobre tela antes e depois da restaurao
21
.
21
Acervo do Museu Sacro da Capela Menino Deus Irmandade do Nosso Senhor dos Passos e Imperial Hospital
de Caridade. Fotos: Memria Conservao de Bens Culturais Ltda.
38
21
Acervo do Museu Sacro da Capela Menino Deus Irmandade do Nosso Senhor dos Passos e Imperial Hospital
de Caridade. Fotos: Memria Conservao de Bens Culturais Ltda.
Fig. 3.3: Processo de restaurao: exame com luz negra para identifcao de repinturas (com lmpa-
da de Wood),remoo de interveno anterior,enxerto e nivelamento do suporte.
21
.
39
Ao de conservao
as pinturas devem ser assentadas sobre uma mesa e higienizadas com pincel
de pelo macio. Neste processo importante observar os resduos de sujidades
removidos, se h excrementos de insetos, o que indica ataque de insetos xil-
fagos, geralmente no chassi e ou na moldura. Caso apresente ataque de insetos
xilfagos, o procedimento a ser adotado separar a obra com ataque do restante
do acervo. Na observncia de algum fragmento solto ou em desprendimento de
camada pictrica, a higienizao deve ser interrompida imediatamente, e enca-
minhada ao restaurador;
a inspeo peridica uma rotina que deve ser adotada como medida de con-
servao preventiva;
tmperas devem ser mantidas em condies de umidade estveis, pois a umi-
dade causa movimentao nas vrias camadas que constituem uma pintura
tmpera. A taxa de umidade relativa indicada para conservao de tmpera de
45 a 60%;
pinturas encusticas devem fcar longe de fontes que irradiam calor, como a lu-
minosidade natural e lmpadas incandescentes para que no amoleam;
os locais de reserva tcnica para guarda de pinturas devem ser climatizados,
com controle e averiguao peridica dos nveis de umidade e temperatura;
o controle da iluminao deve ser rigoroso nas salas de exposio, evitar que a
luz artifcial incida diretamente sobre o objeto exposto. Iluminao direcionada
somente lmpadas de baixa potncia, com alto ndice de reproduo da cor e
baixa radiao de raios ultravioleta.
/// 3.1.2 PAPEL
A humanidade sempre sentiu a necessidade de imortalizar os pensamentos e as aes
de cada poca por meio de registros, sendo esta uma forma de se comunicar. Esta ne-
cessidade levou o homem a transcrever sua histria na pedra, na argila, no metal, no
papiro, no pergaminho ou no papel.
Com a evoluo no processo e fabricao do papel, em 1450, iniciou-se o processo de
impresso de livros, tendo como consequncia a escassez da matria-prima
22
deste ma-
terial (na poca linho e algodo). Isto provocou o surgimento de pesquisa de outros ele-
mentos para substituir e ampliar a viabilidade da fabricao do papel.
Depois de vrias tentativas, cria-se o papel produzido a partir da madeira, cuja compo-
sio a celulose. Esta composio vem por meio da hidratao, macerao e a pren-
sagem da parte fbrosa da celulose, de fbras muito curtas, com excesso de lignina, com
adio de alvejantes, tornando o papel extremamente cido, e consequentemente de
baixa resistncia e durabilidade. Esse tipo de papel, geralmente era destinado produ-
22
O linho e o algodo, matria-prima mais utilizada. In: Mundo do Papel. 4 edio, Companhia Industrial de
Papel Pirahy (1986, p. 9).
40
o de jornais, revistas e outras funes.
As variaes da qualidade dos papis fcam restritas s formas adotadas pelas inds-
trias na fabricao. Algumas indstrias procuram produzir papis de boa qualidade e
durabilidade, podendo ter vrias gramaturas, dimenses, pH
23
entre 7.0 e 8.5, branco,
colorido ou pautado.
Fatores de deteriorao
Fazem parte de acervos nos museus objetos cuja composio da matria-prima o pa-
pel, tais como: documentos, livros, obras de arte, mapas, cartas etc. Esses acervos no
esto livres do processo de deteriorao, principalmente pela substncia orgnica que
caracteriza a sua fragilidade. Entende-se que as causas principais de deterioraes so
ordenadas em intrnsecas e extrnsecas:
a causa intrnseca est relacionada produo do papel, como os resduos na
composio da pasta qumica, com a lignina e cargas, na colagem com almen
(resina), os cidos que reagem e destroem aos poucos as cadeias moleculares da
celulose, rompendo-as, tornando o papel quebradio, mesmo com uma simples
dobra;
a causa extrnseca formada por fatores que representam o meio ambiente, as-
sim como: umidade relativa, temperatura, radiaes luminosas, poeira, poluio
atmosfrica, insetos e roedores, microrganismos, tintas de escrever, manuseio e
acondicionamento inadequado, vandalismo, catstrofes (enchentes e incndios).
Acervo pictrico em papel
O acervo das obras de arte sobre papel constitudo do mesmo suporte do material gr-
fco. O que diferencia uma obra de arte da outra a tcnica pictrica. Portanto, torna-se
de extrema importncia conhecer as vrias tcnicas utilizadas pelos artistas, para esta-
belecer a melhor forma de acondicionamento e conservao das mesmas.
Muitas instituies adotam emoldurar desenhos, gravuras e pinturas sobre papel, como
forma de proteo contra entrada de poeira e outras sujidades, ataque de insetos, fun-
gos e danos causados por mudanas bruscas de temperatura e umidade. Deve-se ter o
cuidado com a confeco das molduras, procurando utilizar materiais apropriados e de
qualidade.
No momento da colocao da obra de arte em papel na moldura, deve-se tomar o cui-
dado para no encostar no vidro, pois o desenvolvimento de fungos e bactrias muito
propcio devido falta de aerao. Uma das solues o uso de um passe-partout, fcan-
do assim a obra afastada do vidro em alguns milmetros.
Outra possibilidade de acondicionamento para obras de arte sobre papel montar as
obras sobre o passe-partout e, depois de montadas, acondicion-las em envelopes de
papel alcalino ou similar e armazenar em mapotecas, deixando-as prontas para receber
23
pH: representa a grandeza fsico-qumica potencial de hidrognio inico, calculado a partir da concentrao de
ons de hidrognio (H+) numa soluo.
41
a moldura no momento de serem expostas. Para montar a obra na base do passe-partout
devem-se utilizar cantoneiras, de preferncia em papel ou polister; alas de papel ja-
pons, utilizando metilcelulose como adesivo ou fta de papel japons acidfree, especf-
cas para uso em conservao e restaurao.
Algumas tcnicas de pintura
Para aes de conservao em obras cujo suporte o papel, necessrio conhecer a tc-
nica de pintura utilizada na elaborao da obra. Abaixo listamos as tcnicas mais usuais.
Pastel seco: tcnica de pintura sobre o papel de pigmento seco, confeccionado
em bastes. Uma tcnica de difcil conservao, pois no resiste a toques e a
permanncia das suas cores depende da qualidade dos pigmentos.
Pastel oleoso: tambm chamado pastel-leo, composto de giz precipitado, mis-
turado com pigmentos de granulao relativamente mais grossa, com veculo
oleoso e com cera, em forma de bastes, as cores so muito mais escuras.
Aquarela: tcnica que utiliza corantes dissolvidos em gua.
Guache: tinta confeccionada com goma arbica e mel de abelha ou glicerina.
Gravura: a impresso e reproduo de desenhos e imagens sobre papel. A gra-
vura ocorre por uma matriz de madeira (xilogravura), pedra (litogravura) ou me-
tal (gravura em metal) que sofre talhos e incises de maneira manual ou mec-
nica.
Grafte: um carvo mineral, natural, encontrada quase pura, o suporte mais
empregado o papel, fno ou espesso, liso ou texturizado. Permite um trao fr-
me e preciso e, ao contrrio do carvo, fxa-se bem ao papel e de ser apagada
facilmente.
Nanquim: chamada de tinta da china ou tinta da ndia, compondo-se de um pig-
mento, o negro de fumo obtido da fuligem produzida pela queima de madeiras e
resinas, aglutinante, goma-arbica, cola de cartilagem de peixe etc.
Aes de conservao
o responsvel pelo acervo deve estar atento s medidas de controle ambiental,
mtodos atualizados em preservao, para que possa ser retardado o mximo
possvel a degradao do acervo. Tambm deve-se recorrer a um profssional da
rea de conservao e restaurao para estabelecimento dos procedimentos;
a iluminao dever ser sempre indireta, nunca permitir que o sol ou lmpadas
atuem diretamente sobre o papel;
a umidade relativa e a temperatura devem ser controladas. Segundo literatura
especializada, entre 45 e 60% de umidade e 20 a 22 C de temperatura;
a ventilao muito importante para evitar a proliferao de microrganismos.
Usar ventiladores e as janelas abertas
25
quando possurem barreira mecnica
para fltragem do ar;
25
O indicado que janelas tenham proteo com algum tipo de tela ou tecido de algodo, que desempenhe a
funo de fltro e barreira contra a poluio.
42
a instituio deve estabelecer uma rotina com periodicidade na verifcao do
estado de conservao do seu acervo e aes de higienizao mecnica do mes-
mo. No procedimento de higienizao, o ideal que seja realizado em mesa de
suco, com trincha macia, folha por folha do volume ou documento. Nesse mo-
mento, caso seja encontrado algum volume ou documento contaminado ou com
problema, dever ser separado e anotar os problemas na fcha de diagnstico do
estado de conservao;
evitar agregar ao papel, clipes, grampos, elsticos, ftas adesivas, etiquetas auto-
-adesivas, para no causar reaes oxidantes, causando manchas ao papel. Para
remoo de adesivos so necessrios conhecimentos especfcos de restauro;
utilizar lpis 6B para qualquer anotao, e sempre no verso, cuidando para no
pressionar o grafte;
evitar fazer anotaes particulares em papis avulsos colocados sobre documen-
tos ou livros, pois poder marcar os mesmos;
jamais marcar o texto com grafte, tintas ou dobras na rea superior ou inferior
das folhas;
no comer, beber ou fumar perto de livros, documentos e obras de arte evitando
o perigo de manchas, queimaduras, alm de serem atrativos para insetos;
manter mos sempre limpas, protegidas por luvas de algodo ou cirrgica du-
rante o manuseio;
a disposio dos livros e outros documentos nas estantes devem estar de p,
com certo afastamento para a retirada segura e frme do mesmo. Nunca acondi-
cion-lo com a lombada voltada para cima e o corte lateral voltado para baixo,
enfraquecendo assim a costura;
no manuseio das pginas, jamais umedecer os dedos com saliva para virar p-
ginas de livro ou separar documentos, procedimento que causar manchas,
muitas vezes irreversveis, devendo a pgina ser virada pela parte superior da
folha. Importante alertar que no se deve apoiar os cotovelos sobre documentos
e livros, atitude que causar o rompimento e a separao dos cadernos do livro;
quando se trata de obra em suporte de papel de formatos maiores, para o ma-
nuseio necessrio envolv-la em folders de papel alcalino ou similar, apoiando
sobre uma base rgida, tipo carto, polionda (placa em polipropilenocorrugado),
MDF
26
, evitando problemas no deslocamento;
evitar enrolar e dobrar documentos, gravuras e outros. O modo mais efcaz de or-
ganizar esse tipo de acervo confeccionar pastas ou envelopes, um pouco maio-
res que o documento, entrefolhar com papel de baixa gramatura, pH neutro ou
alcalino e no mais de trs documentos no mesmo envelope ou pasta. O mais
adequado que o envelope no tenha as partes coladas, facilitando a retirada do
material, evitando rupturas;
26
MDF (Medium Density Fiberboard Fibra de Mdia Densidade) um painel de fbras de madeira, sendo sua
composio homognea em toda a sua superfcie como em seu interior. Graas a sua resistncia e estabilidade
possvel obter-se excelentes acabamentos em mveis, artesanatos, molduras, rodaps, colunas, balastres,
divisrias e forros.
43
muitas vezes, mesmo adotando os procedimentos j citados, ocorrem algumas
situaes extraordinrias, que iro resultar na necessidade de uma interveno.
Observa-se que ao realizar uma interveno de restaurao, num documento ou
livro, recomenda-se o uso de adesivo reversvel, a carboximetil celulose, mais co-
nhecida como metylan ou metyl. Nunca usar cola plstica (PVA)
27
, por ser muito
cida e irreversvel, na maioria das vezes.
Fig. 3.4: Acondicionamento em pasta de carto alcalino, com entrefolhamento dos documentos
28
.
Fotografa
Existem vrios recortes histricos sobre a trajetria da fotografa como arte
29
, pois sua
criao causou controvrsias entre pintores, fotgrafos, pesquisadores em referncia
experincia da captura da imagem.
Os aspectos histricos do desenvolvimento da fotografa que mais se destacaram sero
esboados no que tange perspectiva de reconhecer, estruturar e diagnosticar o estado
de conversao de colees fotogrfcas que fazem parte de acervos.
necessrio conhecer as tcnicas fotogrfcas para correto diagnstico sobre o estado
de conservao, portanto, segue tcnicas fotogrfcas, segundo PIMESTEIN (1997).
Daguerritipo (1839 1865): o suporte
30
era composto por cobre, com camada
fna de prata polida, formando uma imagem bem defnida, revelada com vapores
de mercrio. Como produzia uma nica cpia, geralmente encontrada emol-
durada em estojo protegida com vidro, lacrada para no ter imperfeies e no
oxidar.
27
Atualmente j encontrada cola PVA neutra.
28
Foto: Vanilde Rohling Ghizoni.
29
BENJAMIN, W. Pequena histria da fotografa. In: Magia e Tcnica, Arte e Poltica. So Paulo: Brasiliense, 1994.
30
GOREN (1998, p. 166) Suporte: Material-base sobre el que se adhieren distintos tipos de recubrimientos, con
que el artista realiza su obra; con ser madera, tela, metal, papel, marfl etc.
44
Caltipo ou Talbtipo (1841 1855): neste processo fotogrfco o papel salgado
era usado para produzir o negativo e, a partir deste, copiado por contato em ou-
tro papel salgado, criando assim a imagem positiva, possibilitando gerar vrias
cpias.
Ambrtipo (1854 1870): este processo fotogrfco empregava negativos de vidro
de coldio
31
e a imagem tornava-se positiva ao se colocar um fundo negro por
trs da placa de vidro, preta. Sendo melhor para a conservao guard-la em um
estojo emoldurado, lacrado, com formatos variados, em conformidade com a fo-
tografa. Nesse caso especfco, o que oxida o verniz e a deteriorao origina-se
na camada preta.
Ferrtipo (1856 1890): o suporte era uma fna chapa de metal, pintada de preto
e envernizada, que gerava uma imagem positiva em coldio e sais de prata de
formatos variados.
Placa de vidro base de coldio mido e sais de prata (1850 1900): suporte de
vidro onde a placa era emulcionada com coldio e sais de prata, quando ainda
mido, era exposta e revelada. Comumente encontrados embrulhados em jor-
nal, causando sujidades, mas esse ato tambm evitava que um vidro fcasse em
contato com o outro, o que poderia causar deteriorao.
Fotografa albuminada (1847 1910): processo fotogrfco feito com soluo
base de albumina, cloreto de sdio e nitrato de prata, colocada sobre um papel
muito fno. A partir de negativos em placa de coldio era feito o contato com
este papel albuminado, gerando a imagem positiva. Sendo o suporte muito fno,
era aderido em suporte mais espesso, com diferentes formatos e denominaes.
Carto de visita: retratos de 5,7 x 10,8 cm, aproximadamente, montado em carto
rgido.
Gabinete: retratos de 10 x 14 cm, montados em cartes espessos e decorados.
Estereoscpia: imagem observada pelo visor estereoscpio
32
, onde duas imagens
eram coladas lado a lado, dando uma iluso tridimensional popularmente deno-
minada cineminha, utilizando imagens sobre a natureza e arquitetura.
Carto vitria: retratos e paisagens de 8,3 x 12,7 cm.
Carto promenade: retratos e paisagens com dimenses de 10,2 x 17,8 cm.
Carto imperial: compreendem retratos e paisagens que se apresentam na di-
menso de 20 x 25,1 cm.
Carto boudoir: retratos e paisagens com dimenses de 12,7 x 20,6 cm.
Negativo de chapa e vidro em gelatina
33
(1871 at hoje): essa tcnica substituiu
a do negativo de placa de vidro em coldio mido, consolidando-se como tcni-
ca aperfeioada at a atualidade. Para a fotografa um passo importante, pois a
gelatina se transforma no veculo de sustentao dos cristais de prata utilizados
em papis fotogrfcos e em flmes fexveis.
31
Substncia composta de ter e lcool em uma soluo de nitrato de celulose.
32
Instrumento de ptica no qual duas imagens planas, superpostas pela viso binocular, do a impresso de uma
nica imagem em relevo.
33
Gelatina: produto orgnico, obtido de couros, ossos, nervos, tendes de animais.
45
Atualmente outras tcnicas de fotografa surgiram, tais como: fotografa em papis sem
revestimento, fotografas impressas, fotografas permanentes, fotografas em papis
com revestimento.
Alm das tcnicas j mencionadas, nos acervos podem ser encontrados outros suportes
com emulses de gelatina, assim como: flme em nitrato de celulose
34
, flmes embuti-
rato, propianato e diacetato de celulose; flme em triacetato de celulose, transparncia
positiva em gelatina, polaroid; papel fbra de gelatina e prata com revelao qumica;
papel resinado de gelatina e prata com revelao qumica; flmes negativos e positivos
coloridos com revelao cromognica, branqueamento de corantes e difuso de coran-
tes; fotografa colorida em papel com revelao qumica.
A constituio de acervos, sejam eles familiares ou de registros histricos e culturais,
trata-se de um patrimnio que faz parte de arquivos, os quais so instrumentos impor-
tantes na pesquisa e anlise histrica e cultural.
Portanto, vivel observar qual a linha de atuao das instituies em questo de-
tentora do acervo, para normatizar as pesquisas e o acesso ao acervo fotogrfco, bem
como manter um ordenamento para a conservao do acervo segundo os interesses das
instituies.
Desses primeiros esclarecimentos sobre as tcnicas e cons-
tituio da fotografa, num panorama histrico, pode-se
situar esse objeto como de complexidade, fragilidade e
bastante varivel em sua composio material, sendo im-
portante zelar por sua preservao.
Fatores e causas de deteriorao das fotografas
Umidade relativa deve fcar nos ndices indicados que so entre 30 e 45%. A taxa
de umidade mais alta atua na emulso, destruindo a imagem e favorecendo o
desenvolvimento de fungos e microorganismos;
temperaturas altas atuam no suporte e a emulso que reagem de maneiras dis-
tintas, causando rachaduras na imagem, podendo haver uma possvel penetra-
o da umidade;
poluentes atmosfricos compostos de enxofre e mercrio atuam reagindo
sobre a prata e como resultado aparece uma colorao amarelada;
34
relevante lembrar que quando o grau de deteriorao avanado ocorre a combusto.
46
colas cidas causam esmaecimento da imagem quando atingem a prata metlica;
ao da luz, quando expostas por perodos prolongados e em excesso, inclusive
a luz solar, causam degradaes;
o manuseio de maneira incorreta pode ser nociva para as imagens, causando
abrases e marcas de digitais que deixam engorduradas a superfcie da foto;
grampos e clipes perfuram, deixam marcas e causam oxidao;
ftas adesivas deixam resduos de adesivo alm de proporcionarem faltas nas
imagens;
mobilirio inadequado como o de madeira, que absorvem a umidade, alm de
atrair cupins, brocas e outros insetos. Os mobilirios de metal devem receber
tratamento adequado do fabricante para no oxidarem com o uso.
Essas so algumas das causas e fatores da deteriorao do acervo fotogrfco. A compo-
sio da fotografa em suas tcnicas deve ser conhecida para que haja a possibilidade
de evitar ou prevenir a deteriorao. Assim, existem alguns procedimentos que podem
auxiliar no controle da deteriorao ou mesmo estabilizar o processo.
Aes de conservao
o indicado para a conservao de material que os espaos de exposio e de
reserva tcnica sejam climatizados. Observar os ndices da temperatura que no
pode ultrapassar os 20 C e da umidade relativa deve variar entre 35 a 40% da
rea onde se encontra o acervo fotogrfco;
a radiao luminosa precisa ser controlada, de preferncia deve ser evitada sobre
os objetos em exposio;
ftas adesivas e colas no devem ser utilizadas, entretanto, na necessidade,
deve-se utilizar material especial, ftas de papel japons com pH neutro;
ao manipular um lbum coloque-o em forma de V para no prejudicar sua
costura e a lombada;
use lpis de grafte macio (6B) para possveis anotaes no verso, tipo nmero de
catalogao e somente o que for estritamente necessrio;
jamais utilizar clipes e grampear fotos;
materiais fotogrfcos a base de nitrato de celulose devem ser separados do res-
tante do acervo;
quanto ao mobilirio existem os gaveteiros ou de outros formatos especiais, com
portas, em metal com pintura polimerizada. Ambos tm a funo de no permi-
tir a entrada de p ou insetos. Ressalta-se que o seu fechamento no pode ser
hermtico para que haja circulao de ar, expulsando gases que ocasionalmente
47
possam estar acumulados. O mobilirio precisa estar separado do piso em 20 cm
e na base ter rodas que suportam o peso dos objetos acondicionados;
relativo ao acondicionamento
35
deste acervo pode-se considerar diferentes tipos
de artifcios, dentre eles destacam-se: cartela para porta negativos, folders, ja-
quetas, passe-partout, estojos para portar chapas, pastas suspensas, envelopes de
vrios modelos, caixas e outros.
Estas aes asseguram a integridade fsica do suporte e da imagem e para uma longe-
vidade do objeto, sendo necessrio que a matria-prima seja de boa qualidade e com
sistemas diferenciados de armazenamento como: acondicionamento vertical, que com-
preende pastas suspensas e envelopes, e acondicionamento horizontal, para grandes
formatos.
Ainda sobre o acondicionamento vale lembrar que o papel a ser utilizado deve ter reser-
va alcalina e pH neutro, e os plsticos originalmente devem ser em polister (melinex).
O acondicionamento feito com materiais de baixa qualidade e formatos imprprios
pode acelerar a deteriorao.
de responsabilidade da instituio que o acondicionamento seja realizado de maneira
adequada, conforme as orientaes e normas de conservao expostas. fundamental
estar atento e pensar em formas de melhoramento do acondicionamento, visando sem-
pre melhorias para a preservao dos objetos.
Na realizao dos procedimentos de conservao existem instrumentos que servem de
apoio para a sua execuo, como: trinchas de diversos tamanhos, de pelo macio, separar
quando do uso para a imagem e outro para o suporte, utilizando na higienizao para
remoo de sujidade; pincel soprador (perinha) ideal para fotografas e diapositivos;
pinas, bisturis, estiletes, esptulas de metal (de uso odontolgico) de osso e tefon e
outros.
/// 3.1.3 MADEIRA
A madeira constitui um material de origem vegetal, obtido do tronco das rvores, cha-
mada cerne (camada intermediria entre a medula e a casca). Devido a sua resistncia
mecnica, boas condies de isolamento trmico, obteno com facilidade (matria-
-prima renovvel) e manejo, e sua aparncia com variedade de cores e texturas tem sido
utilizada para os fns mais variados. As desvantagens so a biodegradao, facilidade
em infamar, variao dimensional na presena de umidade, entre outros.
Fatores de deteriorao
os fungos e os insetos xilfagos so os responsveis pela ao biolgica mais
comum que ataca as madeiras. Os fungos podem causar o emboloramento, man-
chamento e o apodrecimento da madeira. Os insetos xilfagos, como os cupins
e os besouros, so os que mais danifcam a madeira. Os cupins se organizam em
35
Ver MINISTRIO DA CULTURA. Cadernos tcnicos de conservao fotogrfca 1. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1997.
48
colnias e possuem hbitos de vida bem defnidos. O reprodutor, quando adulto,
parte da colnia me em revoada para formar novos casais.
Os cupins podem ser divididos em 3 grupos:
1. cupim de madeira seca: atacam madeiras secas em re-
gies de clima quente;
2. cupim de solo ou subterrneo: agem nas partes enterra-
das da madeira em funo da alta umidade do solo, mas
dependendo das condies, podem atacar a parte area
da pea. So encontrados nos climas temperados;
3. cupim de madeira mida: atacam madeiras atingidas por
fungos ou em apodrecimento.
todas as espcies de besouros ou brocas so xilfagos na fase larval. O principal
fator para esse tipo de ataque a existncia de umidade elevada, e, em muitos
casos, de fungos. As larvas constroem galerias individuais na madeira e, na fase
adulta, saem atravs da perfurao de orifcios.
a madeira sensvel a degradao fotoqumica ocasionada pela radiao ultra-
violeta emitida pela luz natural e por certos tipos de lmpadas, como as fuores-
centes e de descarga de alta presso.
as substncias suspensas na atmosfera poluda e a poeira dos grandes centros
provocam alterao de cor e de textura nas peas sem proteo.
Aes de conservao
os objetos devem ser higienizados para remoo de poeiras e outras sujidades. O
procedimento pode ser realizado com pincel de pelo macio ou pano (tipo fanela)
e com regularidade. No recomendado o uso de espanador, pois espalham a
poeira, sem que haja a remoo total;
quando as madeiras forem naturais ou cruas, enceradas ou pintadas, usar so-
mente pincel ou escova de cerdas macias para remover o p. Caso tenha partes
quebradas, lascas ou levantamento da camada pictrica, no caso de madeiras
49
pintadas ou policromadas, o procedimento deve ser interrompido imediatamen-
te, recolhido as partes cadas, encaminhado posteriormente ao restaurador;
na inspeo dos objetos deve-se observar se h asas, excrementos de insetos,
orifcios no objeto, indicando o ataque de cupins. O procedimento separar a
obra com ataque e encaminhar para o tratamento de desinfestao e imuniza-
o;
peas em madeira nunca deverem ser guardadas em contato direto com o solo e
nem ser lavadas. No se deve usar pano mido neste tipo de material;
para evitar que fungos se instalem causando emboloramento e manchamentos
necessrio manter o objeto em ambiente climatizado, se possvel, caso contrrio,
em local seco e arejado, livre de umidade;
para prevenir o ataque biolgico em madeiras (exceto em obras de arte) podem
ser aplicados vrios produtos qumicos na sua superfcie, que formam uma ca-
mada isolante, que obstrui os poros. A aplicao de preservativos em qualquer
pea de madeira deve ser realizada por profssionais especializados, devido a
alta toxidade dos produtos empregados no tratamento;
quando a pea apresentar ataque biolgico em desenvolvimento, costuma-se
usar produtos qumicos biocidas. A utilizao de gases fumegantes muito ef-
caz com extermnio imediato. Devido toxidade, danos que podem causar a sa-
de do profssional e o meio ambiente, este procedimento est sendo substitudo
por tratamento com atmosfera anxia
36
;
as tcnicas de tratamento tpico mais indicado so a injeo e o pincelamento.
A imerso e a pulverizao no so indicadas para obras de arte.
Fig. 3.5: Escultura em madeira policromada com ataque de insetos
xilfagos, antes e depois da restaurao.
37
36
Mtodo de erradicao de pragas em bens mveis sem uso de biocidas. O mtodo priva o oxignio dos insetos
fazendo-os morrer por asfxia.
37
Acervo do Museu Sacro da Capela Menino Deus Irmandade do Nosso Senhor dos Passos e Imperial Hospital
de Caridade. Foto: Memria Conservao de Bens Culturais Ltda.
50
/// 3.1.4 MATERIAL ETNOGRFICO
As colees etnogrfcas so constitudas por uma variedade de objetos, resultantes da
cultura material e imaterial e de diferentes manifestaes de carter local ou regional,
do ambiente, das atividades domsticas, artsticas e industriais de um grupo particular
de indivduos.
A grande heterogeneidade dos materiais etnogrfcos exige um estudo muito aprofun-
dado de cada objeto de forma a no apagar, nos tratamentos de conservao e restauro,
a informao que estes contm, seja ela de uso cotidiano, tecnolgico, artstico ou ritual.
Os materiais empregados geralmente so de origem animal (couros, penas, ossos etc.) e
vegetal (palha, madeira, bambu, vime etc.). Esses materiais se degradam com facilidade,
necessitando ateno especial para serem preservados. Geralmente, na produo des-
ses objetos, junto com o material de origem orgnica, so acrescidos metais diversos,
difcultando ainda mais a tarefa dos profssionais. A conservao de materiais etnogr-
fcos fundamental, j que estes so fonte de informao, investigao e estudo para a
antropologia e outras reas.
Fig. 3.6: Cestaria indgena
38
.
38
Foto: Acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia Professor Oswaldo Rodrigues Cabral - Universidade Federal
de Santa Catarina (MArquE/UFSC).
51
Aes de conservao
a marcao do nmero tombo pode ser realizada na prpria pea, com tinta
nanquim preta ou branca e depois de seco, sobrepor camada de verniz incolor,
para proteger e fxar o nmero. O lugar de marcao do nmero tombo deve ser
realizado de forma que no atrapalhe esteticamente o objeto na hora de exp-lo,
e ao mesmo tempo que seja fcil a sua localizao;
toda pea nova no acervo deve fcar em quarentena antes de ser introduzida na
reserva tcnica, por medida de precauo. Caso esteja contaminada, dever ser
tratada antes;
para acomodar arcos e lanas de madeira ou metal devem ser colocados em en-
gradados de ao na posio vertical e as bordunas na horizontal. A limpeza deve
ser feita com pincel macio, tomando o cuidado com qualquer detalhe que a pea
tenha, como penas e contas;
de forma geral, os bancos, piles, raladores de madeira e outros, devem ser guar-
dados em armrios de metal, protegidos por embalagens como entretela sem
goma, algodo cru lavado ou material similar;
a plumagem, por ser extremamente frgil, deve ser higienizada com pincel bem
macio, seguindo o movimento das hastes;
a colocao de saquinhos de algodo ou fl com naftalina tem se mostrado
efciente para ataque de insetos em objetos com pena. Assim como o uso de pi-
menta do reino em gros para traas;
devido fragilidade de alguns artefatos necessrio cuidado especial para que
no haja desgaste na exposio ou na guarda, sendo necessrio suporte para
acondicionamento adequado;
o mobilirio indicado para armazenamento so as mapotecas ou armrios com
prateleiras deslizantes em metal, com acabamento especial. As prateleiras das
estantes ou gavetas devem ser revestidas com ethafoan
39
ou similar, para que os
objetos tenham uma base de proteo contra impacto. Caso a pea seja muito
frgil, utiliza-se uma espessura maior e adequada necessidade, removendo o
que for necessrio do material para confeccionar um suporte (bero) no formato
da pea;
as caixas de transporte de acervos para exposies externas devem receber
revestimento em ethafoan, esculpindo o formato da pea e os espaos vazios
preenchidos com focos de isopor ou similar;
para colagem de alguma parte solta, usar metilcelulose na proporo de 5% de
cola para 95% de gua deionizada.
39
Ethafoan: Polietileno expandido ou espuma de polietileno. Possui propriedade bsica de isolamento trmico,
acstico e hidrulico, leveza, maleabilidade, futuao, durabilidade, alta proteo contra impactos, facilidade
de manuseio e corte, alm de no soltar partculas e no absorver umidade e fungos.
52
/// 3.1.5 TAXIDERMIA
Tcnica que trata do empalhamento de animais vertebrados, consistindo no curtimento
de suas peles ou seus couros, para fns de estudos cientfcos ou para exposio. Esse
tipo de tratamento dever ser feito por especialista chamado taxidermista
40
.
Esta tcnica, geralmente, utiliza palha de madeira ou algodo, para substituir as partes
internas fexveis do animal, e o esqueleto substitudo por armaes de arame. Essas
armaes so recobertas pela pele ou couro do animal, tendo-se o cuidado de manter a
postura mais natural do animal.
Aes de conservao
manusear os animais somente com luvas descartveis;
na exposio, a forma mais indicada conservao a utilizao de vitrines,
pois protegem da poeira em geral;
para a melhor conservao, o local onde esto armazenados este tipo de acervo
deve possuir controle ambiental de temperatura e umidade relativa, principal-
mente para preveno de ataque de fungos e outros microrganismos;
a higienizao deve ser realizada com o mximo de cuidado, utilizando pincis
de cerdas curtas, fnas e macias para remoo de poeira e qualquer outra suji-
dade.
/// 3.1.6 COURO
Trata-se de pele curtida de alguns animais como o boi, o bfalo, o cavalo, a cabra, o
carneiro etc. No Brasil, os couros mais utilizados so os de pele de boi, carneiro, bode e
porco. O procedimento de curtir o couro basicamente o mesmo desde o surgimento
at hoje, onde a pele limpa em gua de cal ou em outra soluo e os pelos so remo-
vidos com curtimento a sal, podendo ser substitudo por azeite, para lubrifcar o couro.
Hoje, dependendo do processo, pode ser utilizado o tanino e os sais de cromo para o
curtimento.
Devido facilidade da manufatura e o manejo, pode ser utilizado na confeco de ves-
timentas, calados, arreios, selas, mobilirio, cobertura de embarcaes, capas de livros,
entre outros usos.
O couro um material orgnico e sofre os mesmos danos causados por fatores que
degradam materiais semelhantes. Os principais degradantes do couro so as alteraes
bruscas de temperatura e umidade relativa do ar, a luminosidade, as sujidades como
poeira, a biodeteriorao e o manuseio incorreto.
Espaos de exposio e reas de guarda com taxa de umidade relativa acima de 70%
so propcios proliferao de fungos e microrganismos, causando o desbotamento
40
Taxidermista o profssional responsvel pelo empalhamento de animais vertebrados. Geralmente trabalha em
museus botnicos.
53
e fragilidade do material, ativando seu processo de decomposio. J as temperaturas
elevadas associadas a sujidades ressecam o couro, tornando-o quebradio; e a lumino-
sidade esmaece o couro tingido e o de cor natural.
Aes de conservao
os locais de exposio devem ser climatizados e limpos regularmente. Caso no
tenha controle de umidade relativa e temperatura nas salas de exposio, deve-
-se utilizar slica gel dentro das vitrines, para reduzir a taxa de umidade interna;
para higienizao de uma pea, primeiro necessrio avaliar o seu estado de
conservao e o tipo de sujidade. Pea com reentrncia deve ser limpa com pin-
cel e fnalizado com fanela macia;
para manter a maleabilidade e a hidratao do couro pode ser usada na super-
fcie uma soluo de lanolina e leo de mocot (4:6), encontrado em farmcias
de manipulao;
peas de grandes dimenses precisam de suporte auxiliar, tanto para expor
quanto para armazenar, para que no dobre ou curve. Os cintos devem fcar es-
tendidos na horizontal, os sapatos em prateleiras, recheados com sacos de te-
cido de algodo preenchidos com manta acrlica. Outra opo moldar a parte
interna do objeto com ethafoan ou similar;
as roupas podem ser penduradas em cabides forrados com tecido de algodo
ou cabides de acrlico, ou estendidas em posio horizontal, evitando vincos e
dobras.
/// 3.1.7 TXTEIS
Traar o percurso da materialidade constituda nos objetos txteis requer uma viagem a
pocas remotas, onde as vestes utilizadas eram peles de animais, cuja nica fnalidade
era a proteo do corpo.
Posteriormente, com a evoluo da constituio desses objetos e materiais, sua utili-
dade perpassa da proteo para outros propsitos, mesmo os mais simples, como os
pequenos retngulos de pano em volta da cintura ou outros tipos de quadrados eram
enrolados sobre o ombro e presos por um tipo de broche, alm da utilidade primria.
A composio das fbras dividem-se em naturais ou artifciais. As fbras naturais podem
ser orgnicas e inorgnicas. Dessa diviso, aborda-se primeiro a composio da fbra
orgnica:
Fibra natural orgnica vegetal: compostos por fbras de sementes, como, algodo
e a paina, ou fbras de caule, entre eles, o linho, o cnhamo, a juta, o rami e ou-
tras. J nas fbras das folhas, o sisal destaca-se.
54
Fibra natural orgnica animal: como exemplo de materiais podemos citar a seda,
obtida por meio do cultivo dos casulos do bicho-da-seda; e a l por intermdio
da criao de ovinos, destinados produo tcnica dessa fbra para o comrcio.
Fibra natural inorgnica: originria dos minerais, como o amianto, utilizado para
tecido contra incndio, sendo associada l durante o processo de far.
No decorrer da evoluo da utilizao das fbras, houve tambm a criao de outras
fbras que no eram encontradas nos compostos naturais j citados. Surgem, as fbras
artifciais:
Fibra artifcial: so compostas de fbras de polmeros naturais e sintticas.
As fbras de polmeros naturais so produzidas com celulose, linter de algodo e polpa
de madeira. As fbras sintticas so produzidas base de resinas, derivadas do petrleo.
/// 3.1.8 TRAMAS
Para formar o tecido, os fos so tranados entre si num tear manual ou mecnico
41
,
formando a urdidura, onde os fos so colocados paralelamente na mesma distncia,
posteriormente, presos a um cilindro do tear e fos que se entrelaam na urdidura.
O tecido, em sua evoluo, foi sendo utilizado em diversas fnalidades, como a decora-
o, estofamento, toalhas, almofadas, tapetes, cortinas, sapatos, roupas e outras fnali-
dades.
Os tecidos recebem cor e estampas de diversas maneiras, onde os fos so tingidos com
corantes que podem ser de origem animal, vegetal, mineral ou at artifcial. Alm da
colorao, o tecido tambm pode ser decorado, agregando valor esttico, com destaque
nos veludos, brocados, bordados, tapearia, gobelem e outros.
Deteriorao dos txteis
o principal fator de deteriorao de um txtil a luz, que no s afeta os corantes
e pigmentos como tambm desencadeia o processo de degradao estrutural
das fbras;
a poluio atmosfrica com todas as impurezas;
o calor e a umidade excessivos sem o devido controle ambiental;
os insetos podem causar danos irreversveis nos txteis, principalmente em re-
gies de clima temperado e tropical;
uso de etiquetas adesivas, alfnetes ou grampos, causando pontos de oxidao.
41
O tear manual sucedeu o tear de pedais, estando relacionado ao desenvolvimento do artesanato, e posterior-
mente mecanizao.
55
Aes de conservao
tecidos confeccionados em fbras naturais orgnicas so extremamente sens-
veis e devem ser expostos e armazenados em espaos com controle ambiental.
O indicado nvel de iluminao mximo de 50 lux, temperatura entre 18 e 22
o
C
e umidade relativa entre 45 e 60%;
no caso da limpeza para remoo de p, utilizar um pincel macio ou aspirador
de p. A pea coberta com um tecido fno e branco, sendo necessrio evitar que
o tubo do aspirador seja passado diretamente sobre a pea, tapete, estofados
e outros. Este procedimento adotado toda vez que a pea sai ou volta para a
reserva tcnica;
no recomendvel a utilizao direta de fungicidas ou inseticidas em objetos
atacados por baratas, traas, cupins e outros insetos. Recomenda-se o uso de
sach com vrias bolinhas de naftalina espalhadas, sem encostar-se s peas;
guardar os txteis horizontalmente, sem dobrar, ocupando os espaos vazios
da pea
42
. Forrar e cobrir as superfcies dos objetos com algodo ou TNT. Caso
necessrio, sobrepor as peas no mesmo espao, as mais pesadas devem fcar
por baixo. Tambm indicado a separao dos tecidos claros dos mais escuros;
as peas de grandes dimenses como toalhas, cobertores, tapetes e outros so
necessrios enrolar
43
;
para expor as peas de vesturio, utilizar suportes apropriados como manequim
e cabides acolchoados. Chapus e sapatos devem receber suporte adequado, o
indicado sempre dentro de vitrine. O tempo de exposio deve ser restrito em
funo da fragilidade do material.
Fig. 3.7: Higienizao mecnica com proteo de material fragilizado
44
.
42
Essa ocupao deve ser feita por material em formato cilndrico ou semiesfera, dependendo qual parte da pea
que necessita deste preenchimento.
43
Caso necessrio, utilizar tubo de PVC, envolvido em TNT, e caso tenha bordado em relevo, ou s relevo, enrolar
para fora.
44
Foto: Lia Canola Teixeira.
56
Fig. 3.8: Tecido degradado por oxidao
45
.
// 3.2 Materiais de suporte inorgnico
/// 3.2.1 METAIS
Os metais constituem estruturas minerais modifcadas com caractersticas fsicas e
qumicas diferenciadas dos seus elementos formadores, que naturalmente a matria
estvel, passando por processos metalrgicos que a transforma num estado instvel.
Todos os metais, com exceo do ouro, sofrem alteraes qumicas e eletroqumicas,
sob a ao do tempo e do meio ambiente, onde o material tende a voltar a seu estado
original. Este fenmeno chama-se corroso e identifcado por apresentar manchas,
resduos ou incrustaes minerais na superfcie do objeto.
O processo corrosivo causado pela presena do oxignio e
a umidade do ar que desencadeiam reaes qumicas. A cor-
roso altera o volume, a cor, a forma, o peso, a estrutura e a
resistncia do metal, alterando o aspecto do objeto metlico.
45
Foto: Lia Canola Teixeira.
57
O processo corrosivo ocorrer com maior ou menor rapidez, dependendo da composi-
o do metal e das condies ambientais que esteja submetido, podendo acontecer na
superfcie das peas ou nas camadas internas do metal.
A ptina constitui uma fna pelcula de xidos que recobrem a superfcie dos objetos me-
tlicos e atua como camada de proteo e estabilizador das caractersticas fsicas. Entre-
tanto, a ptina pode ser invisvel aos olhos, como por exemplo no ao inoxidvel, bronze,
lato, cobre e outros onde a colorao difere do material da pea. Sua remoo somente
indicada quando estiver comprometendo a aparncia e o signifcado do objeto.
A limpeza dos objetos em metal deve ser confada aos restauradores para que possam
avaliar at que ponto desejvel e possvel a recuperao do bem cultural, sem que haja
comprometimento do seu signifcado, pois um procedimento imprudente pode provo-
car a destruio parcial e at total da pea.
Tcnicas de construo de objetos em metal
Formao: fundidas, moldadas, repuxadas, cinzeladas, gravadas, fligranas, fo-
lheadas, ocadas.
Sistema de fxao das peas: soldadas ou unidas por meio de elementos de
fxao.
Fig. 3.9: Objetos em metal com oxidao e repintura
46
.
BRONZE: resultante de liga metlica de cobre
e estanho, em propores que variam de 80 a
90% de cobre e de 10 a 14% de estanho.
O processo de deteriorao do bronze ocorre
pela corroso do material e inicia pelo ataque
do cloro e seus compostos qumicos, aliados
a altos ndices de umidade relativa do ar. Em
geral, a corroso do bronze acontece em ca-
madas, penetrando na pea conforme evolui
a deteriorao.
Aes de conservao
os objetos em cobre precisam ser armazena-
dos e expostos em ambientes com controle
da taxa de umidade para uma boa conser-
vao;
46
Foto: Memria Conservao Restaurao de Bens Culturais Ltda.
58
para sua limpeza indica-se o uso de fanela seca. Em caso de extrema necessida-
de, os objetos podem ser lavados com gua e sabo e secos com fanela ou pano
macio;
quando a pea inicia o processo de corroso deve ser encaminhada ao restau-
rador para que este remova completamente os xidos e sais causadores da de-
teriorao. Em funo do grau da deteriorao pode-se utilizar um ou mais pro-
cessos de remoo, como o mecnico, o qumico, o eletroltico e o eletroqumico.
Aps o tratamento de limpeza, a superfcie da pea precisa receber uma camada
de proteo, com produto tipo laca, resina acrlica ou cera especial, protegendo a
pea da umidade do ar, sem alterar a aparncia do mesmo.
FERRO/AO: metal que no se apresenta puro na natureza, sendo extrado por fundio
de diversos minerais ferrosos.
O ao uma liga especial de ferro com alto teor de carbono, que apresenta maior dureza
e resistncia corroso que o ferro comum.
O ferro se altera facilmente em contato com o oxignio e a umidade relativa do ar, for-
mando na superfcie uma camada de xido hidratado de ferro (ferrugem), produto da
corroso do ferro de cor laranja-avermelhada.
Ferros com pouco carbono e os maleveis enferrujam com mais facilidade que os aos
e os ferros gusa (fundidos).
Aes de conservao
devem ser armazenados e expostos em ambientes secos e com umidade redu-
zida, o ideal que haja controle climtico do ambiente. As vitrines devem ser
fechadas. Na armazenagem os objetos devem ser embalados em material macio
e inerte antes de serem colocados nos armrios;
a limpeza das peas deve ser realizada com pano macio e seco. Eventualmente
poder ser lavada com gua e sabo, mas deve ser seca imediatamente;
as peas em ferro devem ser inspecionadas com frequncia, para verifcar o sur-
gimento de pontos de ferrugem (ativo e no ativo).
A identifcao da corroso ativa se d pela alterao de cor
e textura do material e surgimento de gotas de um lquido
marrom na superfcie do objeto. Esse processo vai desca-
racterizando o objeto at sua total destruio, devendo ser
tratada prontamente por profssional. A corroso no ativa
estvel e seca, podendo ser mantida sem prejudicar a pea,
em condies adequadas de temperatura e umidade do ar.
59
OURO/PRATA: o ouro encontrado na natureza no estado metlico, geralmente asso-
ciado ao quartzo e certos tipos de areia, sendo tambm frequente a sua ligao com
a prata e o cobre. Apresenta qualidades superiores em relao a outros metais; metal
nobre, estvel e no oxidvel; com resistncia fsica e qumica e que pode ser facilmente
fundido e moldvel em peas e artefatos dos mais variados.
A prata pode ser encontrada na natureza na forma mineral, argentite e cerargyrite, ou
na condio metlica, como prata nativa. Apresenta cor branca e brilhante, sendo ma-
level e por este motivo os objetos so frgeis. A oxidao e a corroso deixam a super-
fcie da prata manchada e escurecida quando em contato com substncias sulfurosas
dispersas na atmosfera das cidades.
A ptina natural do material, que uma fna camada de sulfureto de prata, escura, uni-
forme e estvel, que valoriza as peas antigas no deve ser confundida com outros tipos
de depsitos superfciais.
Devido facilidade de polimento, cunhagem e moldagem, a prata sempre foi muito
empregada na confeco de moedas, peas de valor artstico e em adornos pessoal ou
decorativo.
Aes de conservao
o ouro difcilmente sofre alteraes em funo das condies ambientais no qual
est submetido, pois suas propriedades fsicas e qumicas so estveis;
no entanto, a prata como os outros metais, deve ser mantida em lugar seco e
livre de umidade;
para o ouro e a prata, a limpeza deve ser delicada com fanela ou pano macio
para retirada da poeira acumulada, sendo o procedimento realizado com delica-
deza para no causar dano ao material, como abrases;
os objetos em ouro que apresentarem resduos de sujeira, podem ser lavados
com soluo de gua + amonaco (90 ml + 10 ml), em seguida, devem ser total-
mente secos com pano macio ou fanela para dar lustre e brilho ao metal;
os objetos em prata que estiverem escurecidos podem ser lavados em soluo de
lcool e amonaco (50 ml + 50 ml), e aps este processo serem totalmente secos
com pano macio ou fanela;
para a limpeza regular de moedas, objetos antigos e peas banhadas em pra-
ta que, em geral, possuem delicadas gravaes e ornamentos, nunca se devem
utilizar produtos abrasivos (geralmente encontrados em supermercados), pois
danifcam a decorao, deixam resduo nas incrustaes. A aparncia dessas pe-
as pode ser recuperada com pano macio umedecido numa mistura de lcool
metlico com algumas gotas de amnia. Quando a prata estiver muito manchada
e em pssimo estado de conservao, o tratamento por eletroqumico indicado,
realizado por profssional especializado;
60
para que as peas em prata no fquem manchadas, devem ser
embaladas com vrias camadas de papel macio e neutro (tipo
papel de seda) ou dentro de sacos plsticos com dispositivo de
fechamento e retirando o mximo do ar antes de fech-lo, ou
enrolar flme PVC transparente;
as vitrines devem ter controle de temperatura e fltro na entrada
de ar para eliminar compostos sulfricos. Outra soluo aplicar
camada de laca transparente ou resina acrlica
47
, formando uma
proteo na pea.
COBRE/ESTANHO/LATO/CHUMBO: o cobre um elemento qu-
mico que est presente na natureza tanto no estado metlico,
quanto na forma de outros minerais, como o chalcocite, o cuprite,
o chalcopyrite, a malaquita e a azurita. De colorao avermelha-
da, malevel, dctil e passvel de polimento, caracteriza-se por ser
pouco resistente umidade. Quando associado a outros metais, o
cobre forma ligas metlicas tais como o bronze e o lato.
Esse material suscetvel aos compostos sulfricos presentes na
poluio das grandes cidades, que reagem com o cobre, formando
uma camada de sulfureto de cobre, causando manchas superf-
ciais. O cobre oxida-se em contato com o ar mido formando uma
camada de azinhavre (fna pelcula de xido), deixando a pea
opaca. Esta oxidao pode ser mantida como proteo do metal,
desde que no haja comprometimento da aparncia metlica do
objeto. A ptina do cobre no implica em corroso ou dano ao ob-
jeto ao longo do tempo.
O estanho um metal branco-prateado, malevel e pouco tenaz.
Sua composio formada por diversas ligas metlicas, apresen-
tando boa resistncia corroso e ao ataque de compostos org-
nicos. Entretanto, em contato com o oxignio e a umidade, ou no
caso de enterramento (peas arqueolgicas) por longos perodos,
apresenta oxidao.
O lato uma liga de cor avermelhada, constituda de cobre e zin-
co, numa proporo mdia de 10 a 40% de zinco.
O chumbo um metal muito semelhante ao estanho, de colorao
branca, com muita suscetibilidade ao ataque de corroso e com-
postos orgnicos. Os objetos feitos em chumbo apresentam uma
fna pelcula de xido, acinzentada e estvel, que funciona como
uma ptina protetora do metal.
A oxidao resultante da exposio em atmosferas poludas com
Fig. 3.10: Objetos sacros em ouro, com
resduo de material utilizado na limpe-
za, e em prata, com desgastes causados
pelo uso
48
.
47
As lacas e vernizes mais indicados so os base de acetato polivinlico ou polimetacrilato, podendo ser aplica-
dos com pincel, spray ou imerso. Este trabalho dever ser realizado por restaurador.
48
Foto: Memria Conservao Restaurao de Bens Culturais Ltda.
61
excesso de gs carbnico forma uma camada de xido de cor leitosa, podendo se trans-
formar em corroso ativa, ocasionando um aumento de volume do objeto e at a sua
destruio.
Aes de conservao
os objetos em cobre ou em chumbo devem ser embalados em papel macio e
neutro ou em fanela, e acondicionados em caixas de papelo antes de ser arma-
zenados nas reservas tcnicas;
para expor os objetos de cobre, pode-se proteg-los com camada de verniz de
resina acrlica ou cera de abelha derretida, ou ento uma mistura preparada com
parafna e ceras de abelha e carnaba;
nas vitrines, deve-se prever compartimento interno e adequado para a colocao
de slica gel
49
;
objetos em estanho devem ser limpos com muita cautela devido a sua malea-
bilidade, utilizando fanela, escova macia ou pano seco. Se houver necessidade,
os objetos de estanho podem ser lavados com gua quente e sabo neutro e
enxutos em seguida;
as peas em chumbo, quando expostas, devem ser monitoradas quanto pre-
sena de carbonato bsico de chumbo na superfcie, devendo ser tratada pronta-
mente por profssional especializado, para no sofrer alteraes fsicas;
as vitrines devem ser fechadas e com fltro na entrada de ar, ou proteger o acervo
com camada de proteo em cera ou resina acrlica.
ALUMNIO: metal branco e de grande brilho, malevel e no se oxida em presena da
umidade do ar.
Aes de conservao
a higienizao deve ser feita com uso de fanela ou pano macio e com frequncia,
para no acumular poeira;
os objetos em alumnio podem ser lavados com gua e sabo neutro, secando
em seguida.
/// 3.2.7 MATERIAIS CERMICOS
Os materiais cermicos existem desde a pr-histria. Conforme a caracterstica da cer-
mica possvel identifcar o tipo da argila
50
, a origem dos povos primitivos, a tecnologia
utilizada, a organizao e o imaginrio social de um povo.
Os materiais como: potes, tijolos, vasos, telhas, urnas funerrias, estatuetas, ornamen-
tos para o corpo, faiana, suporte para a escrita e outros, so confeccionados com argila
cozida.
49
Slica gel um produto indicado para estabilizar taxas de umidade relativa do ar em ambientes reduzidos,
como vitrines e mobilirios.
50
A argila a matria prima para o fabrico da cermica e de grande plasticidade. Sua modelao feita enquanto
mida e por meio do calor ela seca e endurece.
62
O processo mais conhecidos de industrializao e manufatura de um material cermico
so:
terracota: formada a partir da argila vermelha (escuro ao claro) com cozimento
de baixa temperatura (800 a 1.000 C), tendo como resultado a opacidade, poro-
sidade, aspereza e sem impermeabilidade. Esta um tipo de cermica muito di-
fundida. Existem objetos de terracota no cozidas, que apresentam grande fragi-
lidade. As peas de terracota no envernizadas ou esmaltadas, so denominadas
biscoitadas, mesmo sendo decoradas. Esmaltada, a terracota aps o processo de
cozimento, pode levar uma camada de verniz (transparente, brilhante ou mate)
ou esmalte (opaco, brilhante ou mate) podendo fazer parte da decorao com
variadas matizes;
loua: cermica de argila branca (marfm ao branco) com cozimento de baixa
temperatura (1.050 a 1.150 C). Sem a cobertura apresenta-se opaca, muito poro-
sa e pouca aspereza. Quase sempre possui camadas de esmalte ou verniz como
acabamento e proteo;
faiana: se caracteriza pela porosidade e pouca resistncia, comparada com a
porcelana e o grs. fabricada a temperaturas inferiores a 1.250 C. Deste produ-
to resultam utilitrios e peas decorativas;
grs: tipo de pasta que necessita de altas temperaturas (1.100 a 1.300 C) para o
cozimento, torna-se resistente, impermevel e refratria, dura e de cor branca
cremosa, marfm rosada e a bege acastanhada. Apresenta-se sob a forma biscoi-
tada e esmaltada. O azulejo e o mosaico so derivados do grs.
porcelana: distingue-se pela sua fragilidade, pela brancura, lisura, vitrifcada e
dependendo da espessura, translcida e alto grau de impermeabilidade. A tem-
peratura de cozimento de 1.300 a 1.400 C. O acabamento pode ser com ou sem
camada de verniz, decorada e policromada. Peas sem verniz ou esmalte so
conhecidas por biscuit. Aps esse processo de decorao das peas, existe uma
segunda queima para fxar os ltimos detalhes.
Fatores de degradao
descuido no manuseio, principalmente os objetos com excesso de decorao e
terracota sem cozimento;
defeito de fabricao e uso contnuo de produtos abrasivo na limpeza, principal-
mente de peas com dourao;
rachaduras, como a separao do verniz e da pasta e craquels;
sujidades que vo se depositando na pea, por perdas pontuais na cobertura da
cermica, causam manchas, principalmente em contato com a umidade;
colagem inadequada com desnveis e adesivos inadequados, assim como o uso
de grampos de metal que eram usados para unir fragmentos que, com o tempo,
oxidavam, provocando mais fraturas.
63
Fig. 3.11: Objeto em porcelana, com fratura e falta de partes de suporte, antes e depois da restaurao
51
.
Aes de conservao
higienizao com pincis macios, redondos, fnos ou grossos, trinchas largas ou
estreitas dependendo da dimenso da pea. Sempre ter o cuidado em forrar a
mesa de trabalho e observar se o objeto est bem estvel para no acontecer
acidentes indesejveis;
nos objetos frgeis, com decorao muito elaborada e as extremidades fnssi-
mas, a retirada do p auxiliada com secador de cabelo, na potncia mxima,
na opo frio;
a limpeza de peas de porcelana sem porosidade e com pequenas degradaes
poder ser feita com swab, gua deionizada e deixar secar em superfcie coberta
com material absorvente;
51
Foto: Memria Conservao Restaurao de Bens Culturais Ltda.
64
objetos em cermica no estabilizada pela queima no devem jamais ser lavados
ou limpados com pano mido. As peas em cermica cozida podem, em caso de
necessidade, lavadas com gua e sabo neutro, uma de cada vez e secadas na-
turalmente sobre algum tipo de escorredor. Caso tenha pintura o objeto, realizar
teste para observar se no haver sensibilizao e possvel remoo;
na armazenagem e em exposies deve-se assegurar a estabilidade dos artefa-
tos. Em exposio recomenda-se usar vitrines fechadas e suportes construdos
para cada pea;
o transporte deve ser planejado e cuidadoso, levando em considerao a fragi-
lidade de cada material. A embalagem deve proporcionar a maior estabilidade
possvel.
/// 3.2.8 VIDRO
O vidro obtido por meio de fuso a alta temperatura de uma mistura de areia silicosa,
soda (carbonato de sdio), cal e outras substncias adicionais, a fm de produzir diferen-
tes qualidades ao material como cor, resistncia ao choque etc.
Caractersticas do vidro
Transparncia: superfcie brilhante permitindo passar a luminosidade;
Translucidez: permite o acesso da luz, mas com pouca nitidez de visibilidade;
Opacidade: no deixa passar a luz e nem possvel ver atravs. Geralmente so
vidros coloridos;
Opalescncia: vidro translcido, com cor leitosa, que vai do branco ao azulado e
um brilho como o da cera, (opalino).
A fabricao do vidro pode ser dividida em: industrializado, que produz objetos em
srie, laminado, contnuo, foat ou o processo manual, por meio do mtodo tradicional
soprado
52
.
O vidro soprado consiste em insufar ar atravs de vareta metlica no interior de um n-
cleo de vidro lquido. importante argumentar que esse processo apresenta pequenas
irregularidades e bolhas no interior, mas as peas so nicas/exclusivas. Alm disso,
com o vidro ainda malevel, podem-se variar os formatos, alisar, esticar, encolher de-
terminadas zonas, para dar ao objeto diferentes formatos.
Esses so alguns apontamentos em referncia produo do vidro que tm relevncia
sobre os posteriores aspectos a serem descritos quanto deteriorao e a conservao
desses objetos em acervos.
52
O mtodo tradicional soprado pode ser livre ou realizar-se no interior de um molde.
65
Fatores que causam deteriorao
sujidade, manchas, riscos, desgastes, rachaduras, rupturas, lascados, defeitos na com-
posio da pasta, opacidade etc.;
acondicionamento inadequado em prateleiras ou armrios. As peas no podem ser
guardadas umas sobre as outras;
alguns tipos de vidro so sensveis s variaes de umidade, podendo surgir minscu-
las rachaduras, diminuindo a transparncia e se tornando frgeis;
so sensveis a choques trmicos e fsicos.
Aes de conservao
se o objeto apresentar indicao de exsudao, como as eforescncias na superfcie e
gotas de umidade, recomenda-se lavar a pea com gua abundante e secar com lcool
para remover os lcalis higroscpicos. Devem ser mantidos em ambiente seco com
umidade relativa inferior a 40%, para evitar o processo de exsudao;
os objetos em vidro podem ser lavados com gua e sabo neutro, um por vez e secados
naturalmente sobre um escorredor;
na apresentao de policromia e douramentos, seguir os critrios j citados com a ce-
rmica;
na armazenagem e em exposies deve-se ter a mesma preocupao com a estabilida-
de dos objetos que se tem com as cermicas;
acondicionadas em prateleiras ou armrios, as peas no podem ser guardadas umas
sobre as outras.
66
67
/ 4 R E S TAUR AO
A restaurao uma atuao especializada, onde o profssional habilitado intervm no
objeto museolgico, visando reparar os danos j acontecidos e, dentro do possvel, o
restabelecimento de sua integridade fsica e esttica.
O restaurador deve usar tcnicas e mtodos cientfcos desenvolvidos a partir da teoria
de Cesare Brandi, baseado em critrios internacionais, estabelecidos por instituies
reconhecidas como ICOM (Conselho Internacional de Museus), ICOMOS (Conselho In-
ternacional de Monumentos e Stios) e o ICROM (Centro Internacional de Estudos para
a Conservao e Restaurao de Bens Culturais), preocupadas com a preservao do
patrimnio mundial.
Toda interveno restauradora a ser realizada em algum bem mvel, tombado ou no,
pertencente a museus, igrejas e outras instituies, o projeto dever ser encaminhado
ao rgo responsvel
53
para aprovao e acompanhamento dos trabalhos, bem como
relatrio com concluso dos trabalhos. O relatrio deve apresentar documentao foto-
grfca sobre o processo, materiais utilizados com as devidas propores, para que no
futuro, quando necessitar de nova interveno se tenha este tipo de informao como
ponto de partida.
Antes do incio dos trabalhos, o profssional dever realizar uma anlise detalhada da
obra, que envolve conhecimento nas reas de fsica, qumica, biologia e histria, contri-
buindo com o diagnstico do estado de conservao, avaliando as condies fsicas da
obra, o grau de deteriorao em que se encontra e a possibilidade de interveno res-
tauradora. Quando for necessrio, formar uma equipe multidisciplinar que possa atuar
de maneira conjunta e integrada na resposta de dvidas e resoluo de problemas. Aps
os resultados da pesquisa, chegamos no ao fm do trabalho, mas ao seu comeo. O
trabalho de restaurao, propriamente dito, comea a partir das anlises obtidas, com a
elaborao da proposta de tratamento, com detalhamento dos procedimentos tcnicos
e materiais a serem utilizados na interveno, com o objetivo de, ao seu fm, devolver
obra de arte sua integridade fsica, esttica e histrica. Este conhecimento estabelecer
o limite da interveno, sem que se cometa uma falsifcao histrica ou artstica e sem
apagar nenhum vestgio da trajetria da obra atravs dos anos
54
.
53
No Estado de Santa Catarina a Fundao Catarinense de Cultura, por meio do Ateli de Conservao e Restau-
rao, o rgo responsvel pelas intervenes nos bens mveis.
54
BRANDI, Cesare. Teoria de la Restauracion. Madrid: Alianza Ed., 1989.
68
Segundo Lygia Guimares (2012, p. 88), alguns pontos devem regular a relao entre o
restaurador e o objeto a ser tratado:
absoluto respeito entre a histria e a integridade fsica do objeto;
realizar apenas os trabalhos que possam ser executados com segurana;
independente do valor ou qualidade artstica, usar o mesmo critrio que esta-
belecido para obras de arte;
a prtica da restaurao deve se basear na interveno mnima e reversibilidade
dos materiais.
Os procedimentos de conservao devem ter prioridade sobre os de restaurao, que s
dever ser realizada quando for estritamente necessria.
70
REFERNCIA BIBLIOGRFICA
ABREU, Ana Lucia. Acondicionamento e guarda de acervos fotogrfcos. Rio de Janeiro:
Fundao da Biblioteca Nacional, 2000.
BACHMANN, K; RUSHFIELD, R. A. Principles of storage. Conservation concerns: a guide
for collectors and curators. Nova York: Cooper-Hevitt National Museum Studies of De-
sign, Smithsonian Institution Press, 1992, p. 5-10.
Banco de dados sobre patrimnio cultural (org.). Bibliografa sobre Conservao e Res-
taurao de Bens Culturais. 2. ed. So Paulo: Editora da USP, 1994.
BECK, Ingrid. Manual de preservao de documentos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional
e ACAN, 1991.
BRADLEY, S. The objects have a fnite life? S. Keene (org.). Care of Collections Leicester
reads in Museum Studies. Londres: Routledge, 1994, p. 51-59.
BRANDI, Cesare. Teoria de la Restauracion. Madrid: Alianza Ed., 1989.
BRAGA, Mrcia (org.). Conservao e restauro: madeira, pintura sobre madeira, doura-
mento, estuque, cermica, azulejo, mosaico. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2003.
BURGI, Srgio; MENDES, M.; BAPTISTA, A. C. N. (org.). Banco de Dados: materiais em-
pregados em conservao-restaurao de bens culturais. Rio de Janeiro: ABRACOR/
VITAE, 1990.
BARUKI, Sandra; COURY, Nazareth. Cadernos tcnicos de conservao fotogrfca:
orientao do Centro de Conservao e Preservao Fotogrfca da Funarte/Negativo
de vidro. Rio de Janeiro: Ministrio da Cultura Funarte, 1997.
Caderno do Professor. Caixa de cultura fotografa. Ita Cultural. So Paulo, s/ data.
CARTIER-BRESSON, Anne. Cadernos tcnicos de conservao fotogrfca: orientao
do Centro de Conservao e Preservao Fotogrfca da Funarte/ Uma nova disciplina:
a conservao-restaurao de fotografas. Rio de Janeiro: Ministrio da Cultura Funar-
te, 1997.
COSTA, Francisco da. Cadernos tcnicos de conservao fotogrfca: orientao do
Centro de Conservao e Preservao Fotogrfca da Funarte/Reproduo fotogrfca
e preservao. Francisco da Costa. Rio de Janeiro: Ministrio da Cultura Funarte, 1997.
CIP BRASIL. O mundo do papel. [elaborado com a colaborao de vrios funcionrios
dos Departamentos de Produo, Tcnica, Comercial e Financeiro da CIA. Industrial de
Papel Pirahy]. 4. ed. Rio de Janeiro: Companhia Industrial de Papel Pirahy, 1986.
71
DALAMBERT, Clara Correia; MONTEIRO, Marina Garrido; FERREIRA, Silva Regina. Con-
servao, postura e procedimento. So Paulo: SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA
DO ESTADO DE SO PAULO. s/ data.
Glossrio do Centro de Conservao e Preservao Fotogrfca curso de especializa-
o em conservao de obras sobre papel mdulo conservao de material fotogrfco.
Universidade Federal do Paran, Curitiba, 1998.
GOMES, Snia de Conti. Tcnicas alternativas de conservao Um manual de pro-
cedimentos para manuteno, reparos e reconstituio de livros, revistas, folhetos e
mapas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1992.
GOREN, M. Silvio. Auxlios prvios para la preservacin de uma coleccin. Herra-
mientas para implementacin de la Conservacion Preventiva. Caderno Tcnico n 2.
Buenos Aires, 1997.
GUIMARES, Lygia. Preservao de acervos culturais. In: SILVA, Maria Celina Soares de
Melo e. Segurana de acervos culturais. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Cincias
Afns, 2012.
HENDRIKS, Klaus B. Cadernos tcnicos de conservao fotogrfca: orientao do Cen-
tro de Conservao e Preservao Fotogrfca da Funarte/Armazenagem e manuseio
de materiais fotogrfcos. Rio de Janeiro: Ministrio da Cultura Funarte, 1997.
JUNIOR, Jayme Spinelli. Conservao de acervos bibliogrfcos e documentais. Funda-
o da Biblioteca Nacional Departamento de Processos Tcnicos. Rio de Janeiro, 1997.
KENNEDY, Nora. Cadernos tcnicos de conservao fotogrfca: orientao do Centro
de Conservao e Preservao Fotogrfca da Funarte/Diretrizes para a exposio de
fotografas. Rio de Janeiro: Ministrio da Cultura - Funarte, 1997.
KING, S.; PERSON, C. Controle ambiental para instituies culturais: planejamento ade-
quado e uso de tecnologias alternativas. In: MENDES, Marylka et al (org.). Conservao
conceitos e prticas. Traduo de Vera L. Ribeiro. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001. p. 41.
KOSSOY, Boris. Fotografa e histria. So Paulo: Ateli Editorial, 2001.
LEMOS, Carlos A. C. O que Patrimnio Cultural. So Paulo: Brasiliense, 1982.
MARTINS, Jferson Antonio; SOARES, Talita de A. de Telemberg. Manual de conservao
e restaurao. In: gora Revista da Associao de Amigos do Arquivo Pblico do Esta-
do de Santa Catarina. Ano VI. Florianpolis, 1991.
MAYER, Ralph. Materiales y Tecnicas del Arte. Madrid: Hermann Blume, 1985.
MINISTRIO DA CULTURA. Preservao e restaurao de documentos: quatro estudos.
Rio de Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 2000.
72
MINISTRIO DA JUSTIA. Manual de preservao de documentos Publicaes Tcni-
cas 46. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1991.
MOTTA, Edson. SALGADO, Maria L. Guimares. O papel problemas de conservao e
restaurao. Petrpolis: Museu de Armas Ferreira da Cunha, 1971.
MUSTARDO, Peter. Cadernos tcnicos de conservao fotogrfca: orientao do Centro
de Conservao e Preservao Fotogrfca da Funarte/Preservao de fotografa na era
eletrnica. Rio de Janeiro: Ministrio da Cultura Funarte, 1997.
PASCUAL, Eva. Conservar e restaurar Cermica e porcelana. Lisboa: Estampa, 2005.
___________. Conservar e restaurar Vidro. Lisboa: Estampa, 2005.
PAVO, Luis. Cadernos tcnicos de conservao fotogrfca: orientao do Centro de
Conservao e Preservao Fotogrfca da Funarte/Conservao de fotografa o es-
sencial. Rio de Janeiro: Ministrio da Cultura Funarte, 1997.
Poltica de Segurana para Bibliotecas, Arquivos e Museus/Museu de Astronomia e Cin-
cias Afns; Museu Villa-Lobos. Rio de Janeiro: MAST, 2006.
QUEIROGA, Isabella Rausch. Conservao e restauro de cermica. In: Conservao e
restauro: madeira, pintura sobre madeira, douramento, estuque, cermica, azulejo, mo-
saico. Rio de Janeiro: ed. Rio, 2003. p. 117-121.
REILLY, J. M.; NISHIMURA, D. W.; ZINN, E. Novas ferramentas para preservao. Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional, 1997. Projeto Conservao Preventiva em Bibliotecas e Arqui-
vos.
RIBEIRO, Ana Maria T. L. Papel de polpa de madeira: degradao fsico-qumica. In:
Conservao de Documentos. Rio de Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 1994.
SANTIAGO, Mnica C. Diagnstico de acervo. In: Conservao de Documentos. Rio de
Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 1994.
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE SO PAULO Departamento de Museus e
Arquivos. Conservao, postura e procedimentos. So Paulo: Imprensa Ofcial, 1998.
SILVA, Lgia Maria Stefanelli. A cermica utilitria do povoado histrico Muqum: a
Etnomatemtica dos remanescentes do Quilombo dos Palmares. Dissertao de Mes-
trado. So Paulo: PUC, 2005.
SPINELI JNIOR, Jaime. Conservao de acervos bibliogrfcos e documentais. Rio de
Janeiro: Fundao Biblioteca Nacional. Departamento de Processos Tcnicos, 1998.
OURIQUES, E. V.; LIENNEMANN, Ana; LANARI, R. Manuseio e embalagem de obras: ma-
nual. Rio de Janeiro: Funarte, 1989.
Fundao Catarinense de Cultura
Sistema Estadual de Museus
Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600 - Agronmica - 88025-202 - Florianpolis (SC)
Tel.: (48) 3953-2374 | 3953-2375
E-mail: semsc@fcc.sc.gov.br
Home-page: www.fcc.sc.gov.br/patrimoniocultural
Capa
Ttulo: Sagrada Famlia
Autor: Desconhecido
Dimenses: 2.280mm x 1.613mm
Tcnica: leo sobre tela
Acervo do Museu Etnogrfco
Casa dos Aores
Você também pode gostar
- NBR 14701 - Transporte de Produtos Alimenticios Refrigerados - Procedimentos e Criterios de Tempe PDFDocumento7 páginasNBR 14701 - Transporte de Produtos Alimenticios Refrigerados - Procedimentos e Criterios de Tempe PDFGlauber Jesus CamposAinda não há avaliações
- Laudo Técnico ESD#2021001 012748Documento21 páginasLaudo Técnico ESD#2021001 012748Alexandre Pinelli100% (1)
- Tese-2001-Yacy-Ara FronerDocumento461 páginasTese-2001-Yacy-Ara FronerLucas CarvalhoAinda não há avaliações
- Tópicos em Conservação Preventiva 1Documento42 páginasTópicos em Conservação Preventiva 1Sara Mesquita100% (1)
- Tese Marcelo MatheusDocumento422 páginasTese Marcelo MatheusDaiane RossiAinda não há avaliações
- Geladeira Consul PDFDocumento10 páginasGeladeira Consul PDFfabio pacheco100% (1)
- Museu Aquisicao DocumentacaoDocumento313 páginasMuseu Aquisicao DocumentacaoDaniel Dalla ZenAinda não há avaliações
- CAMPELLO, Bernadete Santos - Introduà à o Ao Controle BibliográficoDocumento54 páginasCAMPELLO, Bernadete Santos - Introduà à o Ao Controle BibliográficoVitoriaAinda não há avaliações
- Conservacao Postura e ProcedimentosDocumento104 páginasConservacao Postura e Procedimentosligia_medeiros_15100% (3)
- Fispq263 002 SiteDocumento6 páginasFispq263 002 SiteValdenir Dos Santos100% (1)
- Modulo 02 - Gro-Pgr PDFDocumento25 páginasModulo 02 - Gro-Pgr PDFSuelly Pinheiro da Silva100% (1)
- Conservação de AcervosDocumento206 páginasConservação de Acervoselisa_taia9603100% (2)
- Livro Gestão e Planejamento de Museus - Manuelina Duarte PDFDocumento100 páginasLivro Gestão e Planejamento de Museus - Manuelina Duarte PDFPaula Georgia100% (1)
- Conservação Preventiva de AcervosDocumento76 páginasConservação Preventiva de AcervosAna paivaAinda não há avaliações
- Abordagens e experiências na preservação do patrimônio cultural nas Américas e Península IbéricaNo EverandAbordagens e experiências na preservação do patrimônio cultural nas Américas e Península IbéricaAinda não há avaliações
- Artesanato e Identidade Territorial: Manifestações e Estudos no Brasil MeridionalNo EverandArtesanato e Identidade Territorial: Manifestações e Estudos no Brasil MeridionalAinda não há avaliações
- Turismo, Território E Patrimônio Histórico-culturalNo EverandTurismo, Território E Patrimônio Histórico-culturalAinda não há avaliações
- Museus de Cidade: Um Estudo Comparado entre o Museu de Belo Horizonte e o Museu de AmsterdãNo EverandMuseus de Cidade: Um Estudo Comparado entre o Museu de Belo Horizonte e o Museu de AmsterdãAinda não há avaliações
- Acondicionamento e Guarda de Acervos FotográficosDocumento98 páginasAcondicionamento e Guarda de Acervos FotográficosJoanna BalabramAinda não há avaliações
- Miolo Acao Educativa em MuseusDocumento24 páginasMiolo Acao Educativa em MuseusEmerson AlmeidaAinda não há avaliações
- Manual Conservacao AcervosDocumento36 páginasManual Conservacao AcervosAna Beatriz CostaAinda não há avaliações
- 01 - Educação em Museus - A Mediação em Foco PDFDocumento38 páginas01 - Educação em Museus - A Mediação em Foco PDFSamira Cassote Grandi França100% (1)
- Resumo Expandido Gestao Inventario e ConDocumento107 páginasResumo Expandido Gestao Inventario e ConAnaAinda não há avaliações
- Breve Historia Da Teoria Da Conservação e Do RestauroDocumento15 páginasBreve Historia Da Teoria Da Conservação e Do RestauroJames R. DayneAinda não há avaliações
- Turismo e Sociedade: Módulo 1Documento221 páginasTurismo e Sociedade: Módulo 1João VittorAinda não há avaliações
- Agentes de Degradação de AcervosDocumento79 páginasAgentes de Degradação de AcervosLu BritoAinda não há avaliações
- Arte Plumária e CestariaDocumento41 páginasArte Plumária e CestariaKarolyn Soledad100% (1)
- A Arte Dos Povos Sem HistóriaDocumento20 páginasA Arte Dos Povos Sem HistóriaVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Cderno Didático Arte e EducaçãoDocumento83 páginasCderno Didático Arte e EducaçãoEduardo MouraAinda não há avaliações
- O Ateliê Livre de Gravura Do MAM-Rio 1959-1969Documento10 páginasO Ateliê Livre de Gravura Do MAM-Rio 1959-1969Veronica NoriegaAinda não há avaliações
- Imaginário 06 2000 - PercepçãoDocumento206 páginasImaginário 06 2000 - PercepçãoRob Hoo100% (1)
- O Inventário Como Ferramenta de Diagnóstico e Conservação Preventiva: Estudo de Caso Da Coleção "Santos de Casa" de Marcia de Moura CastroDocumento268 páginasO Inventário Como Ferramenta de Diagnóstico e Conservação Preventiva: Estudo de Caso Da Coleção "Santos de Casa" de Marcia de Moura CastroAna Panisset100% (2)
- Natureza-Morta Na Academia Imperial de Belas Artes (Sec. XVI - XIX)Documento18 páginasNatureza-Morta Na Academia Imperial de Belas Artes (Sec. XVI - XIX)Gabriel FariaAinda não há avaliações
- Restituição e Reparação - Refletindo Sobre Patrimônios em Diáspora (Márcia Chuva)Documento20 páginasRestituição e Reparação - Refletindo Sobre Patrimônios em Diáspora (Márcia Chuva)MaDuAinda não há avaliações
- MONOGRAFIA ArteColonialMineiraDocumento103 páginasMONOGRAFIA ArteColonialMineiraAlan RodriguesAinda não há avaliações
- Apresentação DadaísmoDocumento36 páginasApresentação DadaísmoEliane JankowskiAinda não há avaliações
- IBRAM Conservacao M1Documento12 páginasIBRAM Conservacao M1Sabrina Sales AraujoAinda não há avaliações
- Mini-Curso: Catalogação de Acervos TridimensionaisDocumento45 páginasMini-Curso: Catalogação de Acervos Tridimensionaistaciana57820% (1)
- A Arte Do Azulejo em PortugalDocumento14 páginasA Arte Do Azulejo em PortugalMárcio Simões GomesAinda não há avaliações
- Património Cultural - Artesanato de Portugal - Artur Filipe Dos Santos - Universidade Sénior ContemporâneaDocumento55 páginasPatrimónio Cultural - Artesanato de Portugal - Artur Filipe Dos Santos - Universidade Sénior ContemporâneaUniversidadeSéniorContemporâneaAinda não há avaliações
- StarterPack GD PT FinalDocumento17 páginasStarterPack GD PT FinalYoga MandalaAinda não há avaliações
- Oratórios Populares Domésticos Sobre A Ótica Do Desenho Registro e Da Memória Visual.Documento25 páginasOratórios Populares Domésticos Sobre A Ótica Do Desenho Registro e Da Memória Visual.viviboopAinda não há avaliações
- ATAS Os Caminhos Da Historia Da Arte Desde VasariDocumento552 páginasATAS Os Caminhos Da Historia Da Arte Desde VasariMaraImori100% (1)
- O Papel Do Conservador-RestauradorDocumento18 páginasO Papel Do Conservador-Restauradorfctcr0% (1)
- Artistas Brasileiros - 2006 PDFDocumento193 páginasArtistas Brasileiros - 2006 PDFGladys GuerciAinda não há avaliações
- Ebook Livro Fragmentos PDFDocumento372 páginasEbook Livro Fragmentos PDFBiancaOliveiraAinda não há avaliações
- Cursos Gratuitos de Xilogravura e MonotipiaDocumento2 páginasCursos Gratuitos de Xilogravura e MonotipiaCENAPECAinda não há avaliações
- Foto Cor 2Documento5 páginasFoto Cor 2toni va bene0% (1)
- História e Turismo - Vol2Documento350 páginasHistória e Turismo - Vol2Anna AlmeidaAinda não há avaliações
- ANAIS III Seminário Moda FinalDocumento113 páginasANAIS III Seminário Moda Finalchristiano souza mattosAinda não há avaliações
- Livro Atlas FinalDocumento200 páginasLivro Atlas FinalAnaCarolinaDevidesCastelloAinda não há avaliações
- Informação em Arquivos, Bibliotecas e Museus - Lillian Alvares PDFDocumento48 páginasInformação em Arquivos, Bibliotecas e Museus - Lillian Alvares PDFaldairlucasAinda não há avaliações
- Proceedings 2017Documento903 páginasProceedings 2017Luis Otávio Oliveira CamposAinda não há avaliações
- Catálogo Abelardo Da Hora RecifeDocumento40 páginasCatálogo Abelardo Da Hora RecifeAle RochaAinda não há avaliações
- AP AD Pintura PDFDocumento141 páginasAP AD Pintura PDFAngela PeyerlAinda não há avaliações
- Imagem e Imagem Técnica: Aspectos Estéticos e HistóricosDocumento24 páginasImagem e Imagem Técnica: Aspectos Estéticos e HistóricosJake OliveiraAinda não há avaliações
- Livro ClimatologiaDocumento108 páginasLivro ClimatologiaMartaAinda não há avaliações
- Arte Na Pré-HistóriaDocumento52 páginasArte Na Pré-HistóriaAntônio Flávio Tavares Júnior100% (1)
- A Lithos Edições de Arte e As Transições de Uso Das Técnicas de Reprodução de ImagensDocumento259 páginasA Lithos Edições de Arte e As Transições de Uso Das Técnicas de Reprodução de ImagensEdimarlon OliverAinda não há avaliações
- Catálogo EduspDocumento267 páginasCatálogo EduspMario Anikulapo BritoAinda não há avaliações
- Implicacoes Economicas Dos Templos EgipciosDocumento180 páginasImplicacoes Economicas Dos Templos EgipciosCaz ZórdicAinda não há avaliações
- Entre o Restauro e A Recriacao RepositorioDocumento532 páginasEntre o Restauro e A Recriacao RepositorioELENAinda não há avaliações
- IBM SPSS Como-Ferramenta De-Pesquisa-Quantitativa-Alexandra-SantosDocumento5 páginasIBM SPSS Como-Ferramenta De-Pesquisa-Quantitativa-Alexandra-SantosDaiane RossiAinda não há avaliações
- Livro Didático No Cotidiano Da Prática PedagógicaDocumento215 páginasLivro Didático No Cotidiano Da Prática PedagógicaDaiane RossiAinda não há avaliações
- MOLLO, Helena Miranda, SILVA, Rodrigo Machado Da. Abordagens e Representações Narrativas PDFDocumento318 páginasMOLLO, Helena Miranda, SILVA, Rodrigo Machado Da. Abordagens e Representações Narrativas PDFDaiane Rossi100% (1)
- Tese LeonorDocumento286 páginasTese LeonorDaiane RossiAinda não há avaliações
- Cemitério - Mortes e Práticas FúnebresDocumento302 páginasCemitério - Mortes e Práticas FúnebresDaiane Rossi100% (1)
- Bwl11a Manual LavadouraDocumento28 páginasBwl11a Manual Lavadouragilvn100% (1)
- Fazendo As Próprias LuzesDocumento3 páginasFazendo As Próprias LuzesSayuri LaísAinda não há avaliações
- Agrotóxicos-Estudo de Caso em Propriedades Rurais - Lucas Link PDFDocumento44 páginasAgrotóxicos-Estudo de Caso em Propriedades Rurais - Lucas Link PDFLucas LinkAinda não há avaliações
- N-0012 D - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE VÁLVULAS - ProcedimentoDocumento9 páginasN-0012 D - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE VÁLVULAS - ProcedimentoapsgontijoAinda não há avaliações
- NemakillDocumento10 páginasNemakillromildoAinda não há avaliações
- 6568 Logistica Rafael RavazoloDocumento12 páginas6568 Logistica Rafael Ravazolowesley seilahAinda não há avaliações
- Modelo - Politíca de Troca e DevoluçãoDocumento2 páginasModelo - Politíca de Troca e DevoluçãoColombo Filho0% (1)
- U - 46 - BR - Bula 2,4DDocumento11 páginasU - 46 - BR - Bula 2,4Dlenildo86Ainda não há avaliações
- All Cut 311 Plus Fispq Rev 06Documento11 páginasAll Cut 311 Plus Fispq Rev 06Liliane BicalhoAinda não há avaliações
- Diretriz SINAT N°011Documento16 páginasDiretriz SINAT N°011rwurdigAinda não há avaliações
- INA Kit Leve 2018Documento167 páginasINA Kit Leve 2018Anonymous jT6aYKb100% (1)
- Processo Logístico Da AvonDocumento13 páginasProcesso Logístico Da AvonGeovan MotaAinda não há avaliações
- Ultrasolv T-19 - FISPQDocumento8 páginasUltrasolv T-19 - FISPQYuri SouzaAinda não há avaliações
- Manual de Primeiros Socorros Produtos QuimicosDocumento39 páginasManual de Primeiros Socorros Produtos QuimicosFranke TesteAinda não há avaliações
- Cabrio TopDocumento13 páginasCabrio TopJefferson AlvesAinda não há avaliações
- Resolução-Rdc N 216 de 15 de Setembro de 2004Documento43 páginasResolução-Rdc N 216 de 15 de Setembro de 2004gleicianeAinda não há avaliações
- Intergard 475HS PorDocumento4 páginasIntergard 475HS PorRafael AlvaresAinda não há avaliações
- QSR - FT - SH 3em1 Bio EcopowermixDocumento2 páginasQSR - FT - SH 3em1 Bio Ecopowermixsandrogalves100% (1)
- Cartilha FrutasDocumento38 páginasCartilha FrutasKarolina Hoffmann PennerAinda não há avaliações
- XCT70 - BR Manual de OperaçãoDocumento184 páginasXCT70 - BR Manual de OperaçãoRodolfo Moura100% (1)
- FISPQ - Hach - Solução Padrão Determinação de Carbono Orgânico Total (TOC)Documento5 páginasFISPQ - Hach - Solução Padrão Determinação de Carbono Orgânico Total (TOC)LidianeNobreAinda não há avaliações
- Manual IDMDocumento16 páginasManual IDMJoao Victor BAinda não há avaliações
- Verdict RDocumento8 páginasVerdict RromildoAinda não há avaliações
- Manual Do Consumidor: Coifas IlhaDocumento28 páginasManual Do Consumidor: Coifas IlhaPedro FerreiraAinda não há avaliações
- 2019CamposRecusas Transporte RadioativoDocumento135 páginas2019CamposRecusas Transporte Radioativojean.damasceno2206Ainda não há avaliações