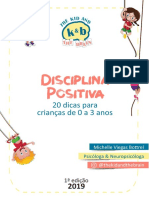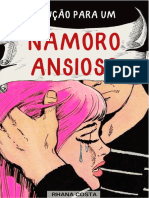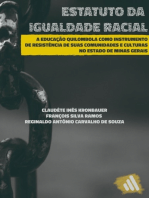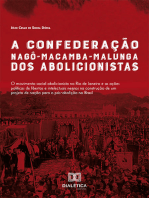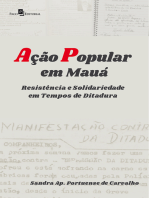Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FICO, Carlos. Prezada Censura PDF
FICO, Carlos. Prezada Censura PDF
Enviado por
Eloisa CristinaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FICO, Carlos. Prezada Censura PDF
FICO, Carlos. Prezada Censura PDF
Enviado por
Eloisa CristinaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PREZADA CENSURA: CARTAS AO REGIME MILITAR
Carlos Fico
1
Resumo
O artigo analisa a censura de diverses pblicas durante o regime militar brasileiro atravs de
documentos administrativos e das cartas enviadas por pessoas comuns Diviso de Censura
de Diverses Pblicas.
Abstract
The article analyses the moral censorship during the Brazilian military dictatorship based on
the research of the administratives documents and letters sent by ordinary citizens to
Diviso de Censura de Diverses Pblicas (the state censorship department).
Como costuma ocorrer em pases que viveram regimes polticos de cerceamento das
liberdades, as primeiras descries detalhadas sobre a Ditadura Militar brasileira vieram de
uma memorialstica que se tornou abundante e variada. Havia a imprensa, por certo, que em
alguns momentos produziu matrias reveladoras, no arrebatamento de campanhas indignadas,
como as de Carlos Heitor Cony e de Marcio Moreira Alves,
2
ou nos desvos de textos
sinuosos que buscavam contornar a censura.
3
Mas as primeiras revelaes mais precisas,
descrevendo os subterrneos do regime, provieram das memrias. H a memria da esquerda,
de grande impacto editorial, sobretudo a dos militantes que experimentaram os desacertos da
luta armada e, derrotados, compuseram pungente narrativa sobre a tortura.
4
Como em
contraposio, a memria dos prprios militares, alguns desgostosos por terem sido afastados
do poder,
5
outros tentando defender supostas positividades do regime
6
ou pretensas
necessidades inexorveis de represso.
7
Estas memrias foram enriquecidas com o passar dos
anos, j que polticos, artistas, jornalistas e outros atores tambm tm deixado seus
depoimentos,
8
por iniciativa pessoal ou estimulados, pois a proximidade do perodo favoreceu
alguns projetos da chamada histria oral.
9
Curiosamente, tal memorialstica constitui-se ao
mesmo tempo em fonte e objeto histricos, pois se certo que descreve a poca, tambm
pode ser estudada como luta pelo estabelecimento da verso correta, estando por ser feita uma
anlise intertextual desses fragmentos como se formassem um texto nico.
Se quisssemos estabelecer as fases da evoluo historiogrfica do conhecimento sobre
a Ditadura Militar, teramos de considerar a centralidade da esfera do poltico que
forosamente um regime autoritrio enseja. Poderamos mencionar, por exemplo, toda uma
literatura de cincia poltica voltada para as questes do Estado, da democracia, do papel do
parlamento e das eleies,
10
ou um conjunto de obras de histria poltica de vis tradicional
2
que se esforou por estabelecer a cronologia do perodo, algumas vezes criando mitos e
esteretipos difceis de desmontar.
11
O que queremos destacar, porm, a dificuldade
heurstica de constituio de obras histricas quando as fontes escasseiam: os estudiosos do
perodo, at pouco tempo atrs, s contavam com documentos oficiais ostensivos, com a
imprensa e com as entrevistas que faziam. Mesmo assim, boas obras foram feitas.
12
Documentos inditos sobre a Ditadura Militar brasileira tm sido liberados com
freqncia nos ltimos anos.
13
Isso possibilitou uma ainda pouco percepetvel transformao
do conhecimento histrico sobre o perodo. So acervos outrora classificados adjetivo
que, no jargo administrativo e arquivstico, designa os documentos sigilosos , produzidos,
portanto, com a franqueza de quem escreve sem o temor de ver seu texto usado de maneira
indevida. certo que no podemos atribuir a tais papis o poder de revelar toda a verdade,
numa descabida revivescncia do fetiche historicista pelo documento. Porm, evidente sua
importncia, e no apenas dos documentos secretos, mas igualmente dos papis
administrativos rotineiros, que aos poucos tambm vo sendo revelados. Ora, natural que o
surgimento dessas fontes acarrete uma fase de descobertas e revises, sendo esta a etapa em
que nos encontramos.
14
Uma das vantagens propiciadas por essa nova documentao o esclarecimento das
especificidades (e, muitas vezes, dos conflitos) dos diversos setores repressivos do regime
militar, se com esta expresso pudermos designar instncias como a polcia poltica, a
espionagem, a propaganda poltica e a censura. De fato, durante algum tempo, consolidou-se a
idia (inclusive em funo da memorialstica mencionada) de que havia certa homogeneidade
entre esses setores, sendo comum design-los como os pores da ditadura, quando, ao
contrrio, sabemos hoje que havia grandes diferenas, por exemplo, entre os rgos de
informaes e os de segurana, bem como grandes conflitos entre o Servio Nacional de
Informaes (SNI) e o Centro de Informaes do Exrcito (CIE), ou entre a Assessoria
Especial de Relaes Pblicas (AERP), responsvel pela propaganda poltica, e toda a linha
dura.
15
Nesse sentido, o objetivo deste artigo o de esclarecer as peculiaridades da censura
de diverses pblicas, pois ela se diferenciava bastante da censura da imprensa e, embora
existente desde os anos 1940,
16
assumiu feies prprias durante o regime militar. Mas
tambm o de apresentar uma documentao que, no sendo produzida pelos militares ou pelos
militantes de esquerda, muito curiosa: as cartas enviadas por pessoas comuns censura.
A lembrana da censura sempre permanece associada ao ltimo perodo no qual ela
existiu, sendo compreensvel, portanto, que, na imprensa e entre os mais jovens, a meno ao
assunto remeta imediatamente ao regime militar. Porm, como sabido, a censura sempre
3
esteve ativa no Brasil, e formas diferenciadas dela persistem mesmo hoje, quando est
formalmente abolida. No ser preciso fazer uma longa recuperao dos primrdios da
censura no Brasil, bastando remeter o leitor interessado s obras pertinentes.
17
Note-se, como
bvio, que a censura explcita de temas estritamente polticos marcou perodos francamente
ditatoriais, como o Estado Novo, de Getlio Vargas (1937-1945) e a Ditadura Militar (1964-
1985). H alguma discusso sobre a intensidade e a sistematicidade da censura desse tipo em
relao aos quatro anos posteriores ao Golpe de 64, mas a afirmativa de que no houve
censura da imprensa nesta fase quase uma ingenuidade, pois os anos do primeiro general-
presidente no demandavam tanto esses servios, haja vista a impresso geral de que a
interveno poderia ser breve. Houve problemas na rea, como demonstra o fechamento do
Correio da Manh, e a censura da imprensa existiu quando necessria, mas de maneira
episdica.
18
Atacado por jornalistas, Castelo Branco decidiu deix-los sem punio o que
demonstra que tinha como censur-los. No processo de proposta de cassao de Carlos Heitor
Cony, despachou de prprio punho: [...] prefiro deix-lo com os seus artigos.
19
Porm, certo que, a partir de dezembro de 1968, com a edio do AI-5, houve uma
intensificao da censura da imprensa, pois o decretum terribile permitia praticamente tudo.
Desde ento, a censura da imprensa sistematizou-se, tornou-se rotineira e passou a obedecer a
instrues especificamente emanadas dos altos escales do poder. J pudemos divulgar, em
outro trabalho, a lista de assuntos proibidos de serem publicados pelos jornais no perodo
compreendido pelos anos de 1971 e 1972,
20
e, na verdade, o tema da censura da imprensa tem
sido bastante estudado.
21
Aqui queremos apenas bem distinguir uma coisa da outra, pois a
censura de diverses pblicas nunca deixou de existir no Brasil, legalizadamente, enquanto
que a censura da imprensa foi feita pelos governos militares envergonhadamente, pois
lembrava o velho Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do Estado Novo, e os
castelistas moderados tinham horror ao DIP.
22
Assim, a partir de 1968, com a adoo da
censura da imprensa, os governos de Costa e Silva, da J unta Militar e de Mdici tentaram,
esquizofrenicamente, pratic-la sem admiti-la, at que um episdio mudasse a situao. Antes
de mencion-lo, porm, preciso explicar o porqu de a censura da imprensa ter sido
metodizada nesse momento.
A histria do perodo tambm pode ser lida como a da trajetria do grupo mais radical
entre os militares que tomaram o poder, conhecido como linha dura. De fato, ainda em
1964, com a implantao da Operao Limpeza (prises, cassaes de mandatos e
suspenses de direitos polticos dos inimigos), um grupo de oficiais-superiores foi designado
para presidir os inquritos policiais militares (IPM) que conduziam s punies mencionadas.
4
A idia (que talvez possa ser chamada de utopia autoritria) era eliminar todo aquele que
dissentisse das bandeiras da Revoluo: combate ao comunismo, corrupo e outras
diretrizes da retrica poltica radical de direita que, naquele momento, tinha a inspir-la
polticos como Carlos Lacerda. Essas punies no eram vistas da mesma maneira pelos
oficiais-generais, causando desconforto aos moderados. Mas havia os que as estimulavam, at
mesmo para carrear para si o apoio da tropa, mais propensa a arroubos punitivos
fenmeno corriqueiro em movimentos do tipo do Golpe de 64. Este era o caso de Costa e
Silva, que assumiu o Comando Supremo da Revoluo, instncia que antecedeu a escolha
de Castelo Branco como primeiro general-presidente e que nomeou os primeiros coronis
dos IPM. Esta a origem da linha dura, que, durante o governo de Castelo Branco,
transformou-se numa espcie de grupo de presso, pois Castelo, s voltas com os problemas
prticos de governo, pretendia acabar logo com as punies, frustrando aqueles que j se
identificavam como a fora autnoma, espcie de guardies dos verdadeiros objetivos da
Revoluo.
O conflito entre a linha dura e os moderados j foi bastante estudado, sendo mesmo
necessrio tomarmos cuidado com esta tipologia quase simplista, que no distingue nuances
entre os militares. Aqui se recupera o assunto apenas para reiterarmos nossa opinio sobre a
existncia de um projeto repressivo que foi globalmente implantado pela linha dura quando
ela tornou-se vitoriosa, deixando de ser grupo de presso e assumindo a posio de
comunidade de informaes e de segurana. O grupo conseguiu impor, ainda durante o
governo de Castelo Branco, o Ato Institucional n. 2, que reabriu a temporada de punies (o
primeiro ato institucional permitiu punies apenas durante dois meses e poucos dias). Mas
foi a subida de Costa e Silva Presidncia da Repblica (contra a vontade de Castelo Branco)
e o Ato Institucional n. 5, que indicaram a vitria indiscutvel da linha dura. No poder, ela
implantou meticulosamente os sistemas que completariam a tarefa da Operao Limpeza,
interrompida contra a sua vontade. Criou a polcia poltica, instituiu um sistema nacional de
segurana interna, reformulou e ampliou a espionagem, estabeleceu um procedimento de
julgamento sumrio para confiscar os bens de funcionrios supostamente corruptos,
implantou a censura sistemtica da imprensa, instrumentou a censura de diverses pblicas
para coibir aspectos polticos do teatro, cinema e TV, dentre outras iniciativas que pudemos
estudar em outros trabalhos. Como sabido, o principal problema dos governos militares que
conduziram a abertura poltica foi, precisamente, a desmontagem de tal aparato. Portanto,
parece evidente que havia um projeto repressivo, centralizado, coerente,
23
sendo a censura
um de seus instrumentos repressivos.
24
5
Em 1973 o jornal Opinio publicou uma edio que acabaria confiscada.
25
As matrias
tinham sido anteriormente encaminhadas censura, mas no foram devolvidas no prazo
combinado. Posteriormente, com a autorizao dos censores, foi publicado o nmero seguinte
de Opinio, somente com o material autorizado. Esta foi a estratgia usada pelo jornal para
provar a existncia da censura da imprensa: uma edio sem censura e outra censurada. O
material serviu para que se impetrasse um mandado de segurana contra o governo, sendo
advogado do jornal o ex-presidente da Cmara dos Deputados e ex-ministro do Supremo
Tribunal Federal, Adauto Lcio Cardoso, que havia renunciado ao cargo de ministro do STF
justamente quando, dois anos antes, foi o nico a votar favoravelmente pela representao do
MDB contra o Decreto-lei n. 1.077, de 26 de janeiro de 1970, que institua a censura prvia de
publicaes contrrias moral e aos bons costumes. O principal argumento de Adauto era, no
caso do Opinio, a ilegalidade da censura da imprensa. Durante o julgamento, o advogado do
governo anunciou que tinha uma carta do ministro da J ustia informando que tal censura era
feita com base no AI-5 e no no Decreto-lei. Mas a votao j havia comeado e Opinio
venceu por 6 votos a 5. No dia seguinte, porm, o presidente Mdici divulgou um despacho
anulando a deciso do STF e confirmando que a censura baseava-se no AI-5 (decises
decorrentes do Ato no podiam ser contestadas pela J ustia). Neste despacho, Mdici fazia
meno a um outro, de 1971, atravs do qual a censura da imprensa teria sido adotada com
base em artigo do AI-5 que permitia ao presidente da Repblica adotar medidas prprias ao
Estado de Stio, conforme estabelecia a Constituio ento vigente, notadamente a censura da
imprensa.
Tudo indica que o o documento foi antedatado, tendo sido forjado apenas para justificar
o episdio envolvendo Opinio, o que transparece seja por detalhes de sua numerao,
26
seja
pela meno que faz, em seus consideranda, teatral renncia de um ministro do Supremo
Tribunal Federal, precisamente o advogado de Opinio.
27
O assunto j foi abordado por
outros estudiosos, e aqui retomado apenas para nos posicionarmos diante das controvrsias
que suscitou. Isso porque, para Kushnir, o Decreto-lei n. 1.077 legalizou a censura prvia da
imprensa e, juntamente com o documento surgido quando do julgamento do Opinio,
comporiam uma roupagem legal para a censura da imprensa.
28
Para Smith, tal censura foi
inconstitucional todo o tempo.
29
Para Kushnir, alis, o estrategema teria sido feito atravs de
um decreto-secreto,
30
mas os inexcedveis decretos reservados nunca foram usados para
regular a censura.
31
O despacho de Mdici foi apenas um autorizo exarado num simples
ofcio do ministro da J ustia, Alfredo Buazaid, que solicitava
[...] seja autorizada a execuo por este Ministrio da censura de imprensa, das telecomunicaes e das
6
diverses pblicas, com base no artigo 9 do Ato Institucional n. 5 [...], combinado com o artigo 155, 2.
letra e da Constituio (Emenda n. 1), com a finalidade especfica de impedir [...] campanhas contra atos,
censura, contestaes ao regime, imagem no exterior, agitao sindical e estudantil [...] existncia de
censura [...] bem como de prises de natureza poltica [...].
32
Buzaid, significativamente, no usou o documento padro de comunicao entre
ministros e o presidente (a exposio de motivos), o que parece ser a principal prova de que
se trata de um papel forjado. Ele lanou mo de um ofcio que, talvez, o desprotegesse menos
(haja vista que uma exposio de motivos no poderia ser ignorada pela administrao, sendo
ciosamente protocolada, diferentemente de um simples ofcio).
Quanto s controvrsias mencionadas, no parece ser correto supor que a censura da
imprensa tenha sido feita com base no Decreto-lei n. 1.077.
33
Este decreto claramente
voltado para a questo da moral e dos bons costumes e para livros, revistas, rdio e TV. A
confuso talvez decorra do fato de que a censura das diverses pblicas tinha carter
majoritariamente prvio. Peas de teatro, filmes e, a partir do decreto, programas de televiso,
de rdio, alguns livros e revistas eram censurados antes de serem divulgados. Isso pode ser
corroborado pelo fato de que os captulos de novelas para a TV e o rdio passaram a ser
censurados depois do decreto. Ora, a mais momentosa forma de censura da imprensa era
conhecida, precisamente, como censura prvia (havia tambm outra modalidade,
majoritariamente utilizada, conhecida pelo governo como proibies determinadas,
transmitidas aos jornais por escrito bilhetinhos ou por telefone). Mas a censura prvia
das diverses pblicas sempre existiu, sendo inteiramente admitida pelo regime militar, que
persistiu usando o formato institudo em 1946, apenas fazendo adaptaes, como as que o
Decreto-lei n. 1.077 discriminava, isto , o controle da TV (que no existia em 1946) e das
revistas e livros que se multiplicavam na poca abordando questes comportamentais (sexo,
drogas etc.) e que, na tica que vigorava, afrontavam os bons costumes. O Decreto-lei
falava em publicaes, mas isso no inclua a censura de temas estritamente polticos nos
rgos de imprensa.
34
A afirmao sobre a inconstitucionalidade da censura da imprensa peca por no se dar
conta da globalidade das aes repressivas, isto , do j mencionado carter de projeto que
presidiu a institucionalizao dos sistemas de segurana interna, de espionagem e de
combate corrupo. A censura poltica da imprensa foi apenas mais um instrumento
repressivo. Tal como a instituio do Sistema CODI-DOI, a censura da imprensa foi
implantada atravs de diretrizes sigilososas, escritas ou no. Evidentemente, para um regime
que afirmava que a revoluo vitoriosa, como o Poder Constituinte, se legitima por si
mesma,
35
a questo da constitucionalidade da censura da imprensa era um simples detalhe.
7
Ela foi implantada porque era indispensvel utopia autoritria dos radicais vitoriosos em
1968.
A censura da imprensa enseja tambm outras controvrsias que, bem situadas, ajudam a
entender a censura das diverses pblicas. Uma delas o carter poltico ou moral destas
censuras. Para Soares, a Diviso de Censura de Diverses Pblicas (DCDP) no exercia
atividades de censura poltica diretamente,
36
restringindo-se a coibir o que considerava
imprprio, do ponto de vista moral, no teatro, no cinema, na TV etc. Para Kushnir,
37
toda a
censura um ato poltico, independentemente de visar a questes morais ou a temas
explicitamente polticos. Do nosso ponto de vista, possvel distingir a dimenso moral e a
dimenso estritamente poltica seja na censura da imprensa, seja na censura de diverses
pblicas. Naturalmente, porm, prevalecia no caso da imprensa a censura de temas polticos,
tanto quanto os temas mais censurados no caso das diverses pblicas eram de natureza
comportamental ou moral. Isso explica o porqu de a expresso censura poltica estar
associada principalmente censura da imprensa. Porm, se o Jornal do Brasil ou O Estado de
S. Paulo pretendessem publicar fotos de mulheres nuas, teriam sido censurados do ponto de
vista moral pelos censores especializados na censura poltica da imprensa. Isso aconteceu
bastante com O Pasquim. Mas importante distinguir essas duas instncias, porque a DCDP
era legalizada e a censura da imprensa era revolucionria.
Alm da censura moral tambm ser um ato poltico, a DCDP coibia explicitamente
menes polticas crticas nas diverses pblicas, o que discrepa da afirmativa de Soares. Em
1972, analisando o filme Os Inconfidentes, de J oaquim Pedro de Andrade, um parecer da
DCDP dizia que a Censura do DPF [Departamento de Polcia Federal] tem em vista [...]
escoimar, e mesmo interditar, as referncia negativas ideolgicas ao atual regime do pas.
38
Em 1975, o Diretrio Acadmico da Universidade Federal Fluminense pretendia promover
um show com artistas claramente vinculados oposio, como Chico Buarque, durante uma
semana de comemoraes na qual tambm seria encenada uma pea de teatro. Moacyr
Coelho, diretor-geral do DPF, escreveu ao ministro da J ustia, Armando Falco, informando-
o das providncias que havia tomado, atravs da DCDP, para impedir que o evento se
realizasse. O texto da pea foi requerido pela censura para uma reviso (j havia sido
liberada anteriormente), o que evitar sua encenao na data marcada. [...] No que se
relaciona apresentao do show musical, o SCDP/DPF/Niteri recebeu instrues para
fazer toda srie de exigncia possvel, com o fim de dificultar ou impedir a sua realizao.
39
O uso especificamente poltico da censura de diverses pblicas, porm, era tratado de
maneira sigilosa e causava desconforto aos censores da DCDP, diferentemente da censura
8
moral, assumida orgulhosamente pela Diviso. Mas a preocupao com os temas polticos
sempre esteve presente na cabea dos censores, como se evidencia pela avaliao que o
diretor da DCDP fazia em 1981, quando a censura prvia da imprensa j havia sido extinta:
As atividades principais da DCDP [...] desenvolvem-se nos vrios segmentos que compem os
espetculos de diverses pblicas. No entanto, so constantes as oportunidades em que se defronta com os
problemas poltico-ideolgicos [...] dificultando as respectivas liberaes, devido autonomia que lhe
falta, levando-se em considerao a sua finalidade primeira. Por outro lado, por ser a primeira a tomar
conhecimento e examinar o material [...], no poderia se omitir, ignorando todos os dados [...]
manipulados ideologicamente com o intuito de contestar e/ou grosseiramente criticar as aes [...]
governamentais, bem como fazendo apologia de doutrinaes contrrias aos Objetivos Nacionais.
40
J nos momentos finais do regime, em 1983, o diretor da DCDP agia de maneira
diversa, evitando censurar politicamente os espetculos que no abrangessem grande
audincia e concentrando suas atenes na TV. Para a DCDP, era difcil lidar com a
dubiedade da abertura poltica, que ao mesmo tempo afirmava a possibilidade de uma
redemocratizao e mantinha, no obstante, um instrumento como a censura de costumes:
Essa dificuldade se reflete no prprio estabelecimento de critrios para o julgamento de espetculos dessa
natureza [poltica], face o critrio da prpria legislao censria. Diante da necessidade de examinar
espetculos de contedo poltico, temos pautado nosso julgamento no estrito cumprimento da legislao,
dando maior liberdade ao teatro, que seguido pelo cinema e, por fim, pela televiso, em virtude de suas
caractersticas intrnsecas.
41
Portanto, apesar de fazer censura poltica, a DCDP nunca se sentiu totalmente liberada
para tanto, o que mais uma vez chama a ateno para a necessidade de distinguirmos as duas
instncias censrias. Curiosamente, a distino no escapava s pessoas comuns, sendo
perfeitamente natural, para aqueles que escreviam cartas DCDP, a existncia da censura
moral. Durante a Nova Repblica, em carta dirigida ao presidente Sarney, uma mulher,
reclamando de publicidade na TV que mostrava nu feminino, mencionava a liberalizao da
censura: Essa abertura da Censura, acho que s para se tratar de poltica, mas pelo que
esto entendendo [os responsveis pela publicidade], pensam eles que caiu a moral e os bons
costumes.
42
As comunidades de informaes e de segurana, isto , os membros da linha dura
que criaram e passaram a controlar a espionagem e a polcia poltica, transformaram-se, em
pouco tempo, na voz autorizada do regime, situando-se como guardies dos fundamentos
da Revoluo. Como j destaquei alhures, a frentica troca de papis secretos que
empreendiam tinha por objetivo no apenas municiar as autoridades de informaes, mas
constituir uma espcie de narrativa legitimadora dos atos repressivos.
43
Uma das tpicas dessa
narrativa desenvolvia a tese de que a crise moral era fomentada pelo movimento comunista
internacional com o propsito de abalar os fundamentos da famlia, desencaminhar os jovens
e disseminar maus hbitos sendo, dessa maneira, a ante-sala da subverso. O Decreto-lei de
1970, por exemplo, em seus consideranda, afirmava que o emprego dos meios de
9
comunicao para esses fins obedece a um plano subversivo, que pe em risco a segurana
nacional. Tal desvario, porm, no esteve circunscrito aos militares, tendo sido absorvido e
reinterpretado tambm pelas pessoas comuns que escreviam DCDP. Assim, a
desagregao da famlia brasileira era o objetivo inicial da subverso,
44
afinal o
comunismo comea no pela subverso poltica. Primeiro, ele deteriora as foras morais,
para que, enfraquecidas estas, possa dar o seu golpe assassino.
45
Desse modo, a censura era
instada a no esquecer, jamais, que vivemos uma guerra total, global e permanente, e o
inimigo se vale do recurso da corrupo dos costumes para desmoralizar a juventude do pas e
tornar o Brasil um pas sem moral e respeito:
46
Essa a ttica dos inimigos da Ptria, solapar a famlia, corromper a juventude, disseminar o amor livre, a
prostituio e toda sorte de degradao do povo. Feito isso, nada mais precisa ser feito para se dominar
um Pas.
47
Nem todos faziam interpretao to simplria das teses da linha dura. Uma das
pesquisas sobre o perodo da Ditadura Militar que ainda est por ser feita precisamente a
que analise a recepo dos ditames da doutrina de segurana nacional e da retrica da
comunidade de informaes e de segurana por parte das pessoas alheias aos governos
militares. No que se refere tpica em questo, alm da adeso mais ou menos elaborada
idia de que a crise moral era uma estratgia da subverso, havia tambm a acolhida
oportunista daqueles que, para obter vantagens do governo, afirmavam, de maneira
pretensamente astuciosa, sua aprovao. Em 1971, por exemplo, o Sindicato das Empresas
Distribuidoras Cinematogrficas do Estado de So Paulo, buscando resolver problemas
criados pela censura como os que diziam respeito censura dos trailers, centralizao da
censura em Braslia e faixa etria do filmes censurados , afirmou que julgava a censura til
e necessria, mas pretendia ser melhor compreendido em funo das vantagens que o cinema
trazia. Afinal dizia o Sindicato ao diretor da DCDP , enquanto a juventude est no cinema,
evita-se que freqente bares ou se drogue, sem falar nos atos de contestao que, do mesmo
modo, assim se podia evitar:
Pela natureza do silncio e da imobilidade em que ficam os espectadores [em um cinema], h um
disciplinamento no comportamento dos jovens. [...] Portanto, quanto maior o nmero de jovens que
possamos ter nos cinemas, menores sero as oportunidades de desatinos e desmandos.
48
Outra controvrsia que a anlise da censura da imprensa enseja a que se refere
prtica que ficou conhecida como autocensura. Tendo sido usada com freqncia nas
redaes dos jornais para designar a obedincia s proibies determinadas pela Ministrio da
J ustia, a expresso, quando usada na anlise histrica, presta-se a equvocos, pelo
comprometimento que sugere. Para Kucinski, a autocensura era um crime intelectual.
49
Smith admite que a expresso imprpria,
50
mas a usa na acepo corrente nas redaes.
10
Soares distingue a autocensura institucional, adotada por algumas empresas de comunicao,
e a individual, praticada por todos, em maior ou menor grau, em funo do medo de
represlias.
51
Para Aquino, a autocensura era uma capitulao da direo do rgo de
divulgao, que assume a funo de comunicar a seus reprteres o que podem ou no
escrever.
52
Talvez a expresso esteja sendo usada para designar coisas diferentes.
A direo de um jornal que recebia a lista de temas que no poderiam ser abordados e
os transmitia redao, acatando a censura, estava colaborando com ela? Certamente pode-se
falar em uma capitulao, e a alternativa seria a censura prvia ou o fechamento do jornal.
Esse tipo de acatamento, porm, no a mesma coisa que colaboracionismo ou apoio poltico,
do gnero do praticado pela Folha da Tarde, nos anos 1970, ou pelo O Globo durante todo o
perodo. Tampouco idntico ao estabelecimento de um rol prprio de temas proibidos, nos
moldes da limitao empresarial mencionda por Soares, circunstncia em que, talvez, se possa
falar propriamente em autocensura. Esta prtica no foi comum na imprensa escrita, na qual
prevaleceu o acatamento s proibies. Em menor escala, houve a censura prvia e, de
maneira diversificada, muito colaboracionismo ou apoio poltico (corriqueiro em jornais do
interior, por exemplo).
O caso da Rede Globo serve para exemplificar a complexidade do problema no campo
das censura de diverses pblicas. Dificilmente uma viso simplista, que entenda a emissora
apenas como uma colaboradora do regime, conseguir entender a censura no perodo. Note-
se, inicialmente, um aspecto que ajuda a melhor esclarecer a distino entre censura da
imprensa e das diverses pblicas que este artigo enfatiza: os telejornais da Globo no
estavam adstritos DCDP. Eles colaboravam francamente com o regime ou apenas acatavam
as proibies determinadas para toda a imprensa. Mas as novelas, os programas de auditrio,
os shows musicais etc. eram ciosamente acompanhados pela censura de diverses pblicas.
Ao contrrio do que j foi dito,
53
esses programas foram extremamente prejudicados. No que
se refere s novelas, por exemplo, a sistemtica implantada pela censura obrigava, por assim
dizer, a uma censura anterior censura prvia, na medida em que as sinopses eram analisadas
pela DCDP e, antes da elaborao dos captulos, a emissora recebia recomendaes sobre
temas a serem evitados, comportamentos que poderiam gerar cortes e assim por diante. Em
1978, por exemplo, em relao anlise inicial das novelas Sinal de alerta e Te contei?, a
DCDP recomendava que fossem evitadas cenas maliciosas, ambientes agressivos, mentiras,
leituras erticas, consumo de lcool, linchamentos, dio marital e amor livre.
54
No mesmo
ano, a novela Tic-Tac, da Rede Tupi, deveria censurar traumas psicolgicos, deformaes
fsicas, casamento na Umbanda, fanatismo religioso, desarmonia entre irmos, suicdios e
11
roubos cometidos por menores.
55
Depois dessa anlise preliminar, os captulos deviam seguir para a censura prvia, o que
implicava uma operao bastante trabalhosa e custosa, em funo do grande volume de
material (a mdia anual, entre 1972 e 1987, superava 2.000 captulos). Alm disso, havia
problemas tcnicos graves, porque a evoluo tecnolgica da Rede Globo no era obviamente
acompanhada pela DCDP. Em 1971, a emissora doou um equipamento de vdeo e cedeu os
operadores necessrios para que a censura das novelas pudesse ser feita em Braslia.
56
Em
1974, a censura contava com o mesmo equipamento, que no mais servia, e a chegada de um
videocassete novo demorou trs anos.
57
O problema no seria resolvido nem mesmo depois da
construo da nova sede do DPF, quando a DCDP pde prescindir da colaborao do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econmico, em cujo auditrio era feita a censura de filmes.
58
A
precariedade tcnica gerava inconvenientes para ambos os lados: as emissoras eram obrigadas
a entregar o material com muita antecedncia e os censores, forados a se deslocarem para as
emissoras quando os equipamentos da DCDP eram insuficientes, trabalhavam em ambientes
hostis, sofrendo presses que incidem diretamente sobre o desempenho censrio.
59
Os programas transmitidos ao vivo tambm sofriam bastante com a censura. O
Fantstico, por exemplo, somente podia ser censurado previamente em parte, pois muitos
quadros do programa eram feitos ao vivo, gerando conflitos com a censora que se instalava na
emissora durante a transmisso.
60
O apresentador Chacrinha era vtima de uma modalidade de
censura que poderamos chamar de concomitante, mais do que prvia. Segundo ele,
os censores sempre assistiam em cabine especial aos programas, podendo determinar e conduzir
diretamente o que querem direo de TV j que so ligados em link direto cabine de cortes, com
aparelhos de comunicao (bem custosos), o que deixa visivelmente constrangida e tolhida em sua
liberdade de criao a estrutura do programa.
61
Evidentemente, a presena de um censor num programa de auditrio gerava problemas.
Chacrinha chegou a ser preso, em 1980, por desacatar uma censora.
62
Na verdade, havia uma constante negociao entre a direo da emissora e a DCDP.
Mesmo quando punida, a Globo mantinha uma postura cordial e de colaborao. Fazia o que a
DCDP determinava, pedindo, em contrapartida, maior liberalidade da censura. Em 1976, por
exemplo, um cidado escreveu ao ministro da J ustia, Armando Falco, afirmando que os
comentrios de Francisco Scarpa sobre a princesa Caroline de Mnaco, durante entrevista a
Ibrahim Sued, no Fantstico, eram desabonadores. Acionada pelo ministro, a DCDP
suspendeu o jornalista por 60 dias.
63
Abordando o assunto, em carta ao diretor da DCDP, o
superintendente de produo e programao da emissora, J . B. de Oliveira Sobrinho, acatava a
suspenso e pedia que a censura ao Fantstico fosse feita apenas previamente, sem a presena
12
de um censor no local da transmisso pedido que foi negado.
64
Do mesmo modo, aps a
aprovao do divrcio no Brasil, a Rede Globo tentou recuperar novela outrora censurada por
conter mensagem de dissoluo conjugal. Oliveira Sobrinho comprometia-se a colaborar,
acatando as instrues para o caso e propondo-se a orientar rigorosamente os diretores da
novela, mas tambm no foi atendido.
65
A forma de negociao mais corriqueira consistia na
permisso, por parte da censura, para que uma novela abordasse tema controvertido desde
que, at o final do enredo, um desfecho adequado resolvesse a inconvenincia. Este foi o
caso, por exemplo, de um padre apaixonado, personagem da novela Pai heri.
66
Algumas
vezes, porm, a censura mostrava-se tolerante, como no caso da novela Gabriela. Para
Moacyr Coelho, diretor-geral do DPF, a novela
vem mostrando, ultimamente, cenas e situaes que agridem os padres normais da vida no lar e na
sociedade, tornando o espetculo inconveniente para qualquer horrio de televiso, mas [...] a Censura
[...] ciente de que se aproxima de seu trmino, vem tolerando as apresentaes, para evitar transtornos
emissora.
67
A direo da Rede Globo sempre buscou antecipar-se DCDP, contratando ex-
funcionrios da censura para atuarem na emissora. Aplicava, portanto, uma autocensura tout
court. Em alguns momentos, esse relacionamento mostrava-se francamente promscuo.
Wilson Aguiar, censor aposentado, foi contratado pela emissora. Quando atuava na censura,
entrou em conflito com um funcionrio que, anos depois, vingou-se dele criando problemas
para uma novela. Aguiar, ento, escreveu DCDP, como funcionrio da Globo e como ex-
censor, pedindo punio para o funcionrio.
68
Com o fim do regime militar, durante a Nova
Repblica, antes da extino da DCDP, a Rede Globo resolveu adotar um padro prprio de
censura, liberando a abordagem de temas polticos e comportamentais, mas recomendando a
todos os seus artistas e diretores que os excessos fossem evitados.
69
Como j se viu, havia limitaes tcnicas na DCDP. No que se refere a pessoal, as
estimativas existentes, que indicavam grande concentrao de censores nos meados dos anos
1970,
70
talvez precisem ser revistas. Em 1973 havia 34 censores atuando na sede, em Braslia.
Em 1978, 45, chegando ao mximo de 59 censores em 1981. Somados aos outros 162
espalhados pelo Brasil, neste ano, eles totalizavam 221 censores atuando no pas.
71
Em 1974,
para suprir a crescente demanda de censura, a Academia Nacional de Polcia promoveu um
Curso de Transformao para interessados em se tornar censores.
72
Em sua fase final, j nos
anos 1980, alguns seminrios foram promovidos, para atualizar o pessoal e estabelecer
diretrizes e propostas de reformulao. Mas no havia treinamento continuado dos censores,
embora, de maneira episdica, alguns at fossem mandados ao exterior para cursos.
73
Em
meados dos anos 1970, vrios censores antigos foram dispensados por no terem sido
13
aprovados em processos seletivos internos.
74
A falta de critrios era flagrante e, muitas vezes, os prprios censores reclamavam do
problema, pois muitas decises eram tomadas com base em subjetivismos e impresses
pessoais.
75
As especificidades das cidades do Rio de J aneiro e de So Paulo, que sediavam as
principais empresas produtoras de cinema e de televiso e concentravam a maior parte da
atividade teatral e musical do pas, geravam conflitos com a diretriz de centralizao da
censura em Braslia. A pretenso governamental de tudo controlar, cujo auge deu-se durante a
gesto de Armando Falco, ampliava a carga de trabalho dos censores. Isso vinha desde a
centralizao, em Braslia, da censura ao teatro, feita a partir de 1969.
76
Eles deviam censurar
textos de peas teatrais, ensaios gerais, filmes, trailers, sinopses e captulos de novelas,
programas diversos de rdio e de televiso e, a partir de Armando Falco, livros e peridicos
(em busca, sobretudo, de pornografia), fotos e cartazes publicitrios. Os livros tidos como
pornogrficos eram incinerados na Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de
J aneiro.
77
A censura de livros polticos, a partir de 1977, foi feita por um Grupo Permanente
de Trabalho.
78
Depois de 1978, somente a publicidade relacionada aos espetculos era
censurada. O enorme arquivo da DCDP era difcil de ser administrado e quase entrou em
colapso em 1977.
79
A DCDP tentava constantemente atualizar a legislao. Em janeiro de 1973, um projeto
de reformulao foi encaminhado ao Ministrio da J ustia pois a Diviso julgava necessrio
consolidar as normas censrias vigentes, muitas das quais anteriores ao advento da televiso
no Brasil, porquanto obsoletas e, de modo geral, dispersas, quando no conflitantes.
80
O
projeto jamais foi aprovado. Do mesmo modo, desde 1972, a DCDP solicitava a atualizao
das multas, consideradas irrisrias, o que somente foi obtido em 1984.
81
A grande alterao
viria apenas em 1980, quando foi regulamentada uma lei de 1968 que criava o Conselho
Superior de Censura, instncia de recurso que, quando no decidia por unanimidade, podia ter
suas posies majoritrias revogadas pelo ministro da J ustia. O Conselho, obviamente,
intimidava a DCDP, e as notcias de sua regulamentao levaram um censor a escrever ao
ministro da J ustia afirmando que por fora da maioria dos rgos nele representados,
tender naturalmente (em tese) a sobrepor o interesse comercial dos autores e produtores
preservao moral da sociedade.
82
Outra rea de atritos era a J ustia. Embora tenha havido tentativas de liberao de peas
teatrais censuradas em 1968,
83
o grande problema deu-se nos anos 1980, quando alguns juzes
federais liberaram pornochanchadas proibidas pelos censores que, assim, assistiam,
impotentes, exibio de um sem-nmero de filmes, verdadeiro lodaal, favorecidos por
14
liminares do Poder J udicirio.
84
O descontentamento da Diviso ampliava-se na medida em
que muitas pessoas supunham que os filmes tinham sido liberados por ela.
85
Porm, com o
passar do tempo, a DCDP teve de admitir a evoluo dos valores morais da sociedade
brasileira: em 1985 ela liberou o filme O ltimo tango em Paris, que motivou carta de
protesto de um cidado encaminhada ao ento senador Fernando Henrique Cardoso. Pedindo
subsdios DCDP, Fernando Henrique Cardoso foi informado dos novos critrios da Diviso
adotados em funo da jurisprudncia de nossos Tribunais que liberaram, at a presente data,
nada menos do que 260 [...] filmes de sexo explcito, a maioria deles interditada pela DCDP,
que os considerou obscenos e atentatrios moral.
86
Tambm houve problemas com o
J uizado de Menores, que discordava da exibio pela TV, mesmo de madrugada, dos filmes
para cinema censurados para menores de 18 anos.
87
Outra fonte de problemas para a DCDP era a Embrafilme. Em 1978, um cidado
encaminhou carta de protesto ao ministro da J ustia reclamando do filme O homem de Itu. O
que incomodava o missivista era a meno ao tamanho gigante do pnis do personagem.
Em resposta, o diretor da DCDP argumentou que a Embrafilme que financiara o filme e a
estatal no evitava a gerao de uma obra sem valor. Mas a DCDP tinha de ser tolerante: o
que no se pode interditar todos os filmes produzidos no Brasil, com risco de criar uma
situao insustentvel para a nossa indstria cinematogrfica.
88
Segundo a Diviso, a censura
de filmes estrangeiros no trazia maiores prejuzos ao empresrio nacional, na medida em que
ele poderia reexportar o filme interditado. No caso de filmes nacionais financiados pela
Embrafilme, a proibio da censura no s causa prejuzo para o produtor como afasta a
possibilidade da empresa estatal reaver o investimento aplicado.
89
Por isso, a DCDP supunha
facilitar a liberao dos filmes nacionais, sugerindo cortes e remontagens e evitando a
interdio global. Para a Diviso, o problema deveria ser resolvido com a exigncia de
certificado de liberao para o roteiro antes dele ser submetido Embrafilme.
As cartas encaminhadas DCDP tambm confirmam o desconforto causado pela
atividade censria aos seus prprios agentes. Os censores viam-se, muitas vezes, como
intelectuais, situando-se com dificuldade no universo policial do DPF. As crticas
constantes censura geravam, portanto, um grande ressentimento contra os intelectuais.
Segundo um antigo funcionrio vrias chefias sofreram desgastes dos mais diversos [...]
atravs de choques com a opinio pblica proporcionados pelos intelectuais apoiados pelos
meios de comunicao [...] Quanto mais liberais [os chefes] menos atacados eram.
90
Um
inspetor de diverses pblicas paulista mencionava, em 1970, a irreverncia marcante dos
dolos artsticos do nosso pas que se julgam acima de qualquer legislao.
91
Em 1977, um
15
padre escreveu censura reclamando contra a revista Peteca, pornogrfica segundo ele. A
DCDP, em resposta, incluiu a revista no rol das que deveriam ser previamente censuradas, e o
diretor da Diviso informava o padre das reaes que poderiam advir:
Essa medida, como todas as outras que buscam impedir a derrocada da moral e dos bons costumes, no
entender da elite intelectualista, tem carter repressivo, castrador da liberdade criadora do artista
brasileiro. Contudo, diante das chocantes evidncias, no podemos nos furtar aplicao de tal medida,
embora sabendo, de antemo, quo duros sero os ataques e crticas desferidos pela imprensa e meios
artsticos.
92
A DCDP no recebia um nmero muito grande de cartas, embora tenha se tornado
bastante conhecida do pblico, nos anos 1970, em funo da obrigatoriedade de exibio, nos
cinema, nas TVs e nos teatros, do certificado de censura. Era possvel saber de sua existncia,
do nome de seus diretores e do jargo utilizado pela repartio pblica. Registre-se pois, mais
uma vez, o contraste com o carter oculto da censura da imprensa. Entre 1968 e 1985 a DCDP
recebeu ou foram encaminhadas a ela pouco mais de 200 cartas, em maior nmero entre
os anos de 1976 e 1980. Vrias, sobre o tema da censura, eram encaminhadas ao presidente da
Repblica ou ao ministro da J ustia, mas suas assessorias as direcionavam ao diretor da
DCDP. A maioria dos missivistas era constituda por homens, vindo em segundo lugar
entidades diversas, como associaes cvicas, clubes de servios e as prprias empresas
atingidas, como as emissoras de TV, produtoras de filmes ou editoras de livros e revistas.
Raramente uma correspondncia provinda do universo do teatro chegava DCDP, o que
talvez sugira que a antiga tradio de censura ao teatro estava no apenas consolidada como
rotina no sujeita s novidades que atingiam, por exemplo, a TV, mas tambm que a censura
dos ensaios gerais que antecediam as estrias circunscrevia-se s superintendncias regionais.
Somente em terceiro lugar vinham as mulheres individualmente, aqui no se computando o
bom nmero de entidades congregadoras de mulheres defensoras da moral e dos bons
costumes, espcie de seguimento natural das famosas Marchas da Famlia, com Deus, pela
Liberdade. A partir dos meados dos anos 1970, tornou-se comum o envio de requerimentos
de vereadores, em sua quase totalidade provenientes de cmaras municipais interioranas,
geralmente pedindo censura para isso ou aquilo, atitude majoritria, alis, em todo o conjunto
da correspondncia. Poucos abaixo-assinados, no obstante alguns bastante volumosos,
indicando, talvez, uma das principais caractersticas das cartas, ou dizendo melhor, do perfil
do remetente: um indivduo que, exposto a material que o ofendia, tomava a deciso algo
sbita de dirigir-se, pessoalmente, esfera pblica, no poucas vezes usando de linguagem
desabrida, carregando nas cores e denunciando, assim, que o ato no fora muito pensado.
16
Prezada Censura e amigos foi a frmula encontrada por uma senhora doente para
dirigir-se DCDP. Ela, que no trabalhava, encontrara tempo para atender o pedido de umas
50 mes de famlia de encaminhar solicitao para que fossem censurados os programas de
TV que contivessem bandalheira, falta de moral e falta de respeito.
93
Dizer-se me de
famlia, idosa, pai de adolescentes, cinqentenrio, tanto quanto defender os
indefesos a includos os velhos, as crianas e as mulheres era a maneira que os
remetentes encontravam para apresentarem-se autorizadamente diante do poder pblico.
J ovens e crianas aparecem especialmente indefesos nas cartas, demandando os cuidados da
censura, pois falta-lhes ainda, infelizmente, a orientao segura que nem o lar nem a
escola
94
deveriam dar. Tudo poderia atingi-los, degener-los, despertar-lhes os maus
sentimentos porventura embrionrios,
95
pois os menores no sabem discernir.
96
Inseguros
diante da onda ertica e pornogrfica,
97
do vandalismo sexual, da poluio do sexo,
98
da
anarquia sexual,
99
apelavam para a autoridade, narrando seus infortnios: Acontece, meu
caro senhor [que] minha senhora deparou com uma grande quantidade de material
pornogrfico [e viu] ruir sob seus olhos toda a estrutura que edificou. O dono do material
pornogrfico era um menino que deixava de comprar o lanche na escola para adquirir as
revistas e, durante o recreio, as mostrava, talvez lbrico, s meninas.
100
Impressionante como
essas crianas se deleitavam em ver tais cenas, dizia um padre que registrara acontecimento
17
assemelhado.
101
J ovens que, pela excitao sexual, so levados masturbao, que prejudica
o seu desenvolvimento fsico e mental,
102
e contestao.
103
Em 1979, agastados com a
programao infantil vesperal da TV, vrias sedes do Lions Clube de So Paulo escreveram
DCDP pedindo providncias.
104
Era a crise moral, a corrupo dos lares, a delinqncia
juvenil.
Em muitas cartas as mulheres eram tratadas como incapazes: nossas mulheres, dotadas,
mentalmente, igual criana, absorvem todas essas imundcies [da TV].
105
Um filme como
D. Flor e seus dois maridos, s deveria ser exibido para homem.
106
De outro lado, a
presena ertica de mulheres na TV, como no caso das que danavam em programas de
auditrio, ofendia ou excitava, pois muitas reclamaes quase chegavam a ser erticas:
manecas despudoradas e de formao duvidosa;
107
mulheres exibem sensualmente suas
exuberncias [...] balanando licenciosamente seus exuberantes mames.
108
Mesmo a
publicidade das precaues da higiene feminina causava desconforto, inclusive entre
algumas mulheres,
109
que no gostavam de ser lembradas, a todo momento, de nossa to
msera condio.
110
Depois de assistir ao filme A dama do lotao, assim se expressou uma
missivista: sinto nojo de ser mulher. Estou com vergonha de me olhar no espelho.
111
Uma das frmulas encontradas pelos remetentes para se apresentarem, autorizadamente,
diante do poder pblico, era a negativa prvia de qualquer conservadorismo: se o senhor
acha [...] que sou um quadrado; no sou um puritano. Algumas vezes, para tornar mais
convincente o pedido de censura que faziam, admitiam fraquezas: gosto e tenho visto muitos
filmes erticos e pornogrficos.
112
Esta retrica moralista, como se v, repetia tpicas
consagradas, como a condenao do obsceno, mas naturalmente incorporava as caractersticas
do momento e mesclava-se ao discurso poltico do regime militar, como no caso da conexo
entre crise moral e subverso. As cartas, nesse sentido, transpareciam uma vontade de censura
mais ampla do que a dirigida contra este ou aquele veculo algo como uma reforma moral
ante a decadncia da sociedade.
113
Mas, sem dvida, o fenmeno mais impactante era a TV,
o admirvel invento de nossa poca,
114
visto como instrumento de propaganda subliminar
no contexto da guerra revolucionria em que vivemos.
115
A atrativa propaganda audio-
visual,
116
lanando mo de cenas imorais, seria capaz de males irreparveis:
117
Se a fantasia do escritor pode influenciar atravs do livro, quando essa transmitida pela televiso sua
capacidade de influenciar infinitamente maior, uma vez que essa, com suas tcnicas modernas,
consegue traduzir um aspecto de realismo no vdeo. Por isso mesmo, a televiso constitui-se num
instrumento decisivo de interferncia na formao moral-social do indviduo.
118
Assim, tudo o que aparecia na televiso era magnificado, fosse um simples gesto, como
o usado pelo cantor Erasmo Carlos, que, em 1970, cumprimentou o pblico erguendo o punho
18
cerrado,
119
fosse a atitude em cena de Caetano Veloso, lida como comportamento ofensivo
moral e aos bons costumes.
120
Mas no apenas a televiso surgia como ameaa dos tempos modernos. Tambm o
teatro, afetado pelo sucesso do cinema e da TV, estaria lanando mo de recursos condenveis
para atrair pblico, alterando profundamente o conceito bsico de expresso esttica [...] no
mais respeitando as tradies e os valores ticos e desvirtuando a nobre funo do teatro
para coloc-lo a servio de ideologias exticas e na pregao da dissoluo dos costumes.
121
Igualmente, se a TV inspirava estudos sobre sua capacidade de influir negativamente,
122
tambm a msica de vanguarda deveria merecer cuidados, como registrava em carta uma
mulher que se intitulava colaboradora e censora particular-confidencial:
O estudante, antes normal, torna-se um viciado, escravo, nervoso, excitado sexual, descuidado no
vesturio ou hippie, pois enfraquece o sistema nervoso por tanta excitao contnua em acordes
dissonantes e sem emoo, pois ns todos temos que ter uma vlvula de escape.
123
De modo que boa parte das cartas encaminhadas DCDP era motivada por reaes ao
que a TV exibia: filmes violentos, meno a drogas, novelas que agrediam a moral e os bons
costumes. Uma das reclamaes constantes dizia respeito a todo tipo de categoria
pretensamente desrespeitada pelos programas, pedidos de censura que eram motivados por
preocupaes particularistas: enfermeiras retratadas como prostitutas,
124
gachos atacados por
supostas ofensas morais,
125
professores de educao fsica descritos como simples cultivadores
da boa aparncia,
126
portugueses eternamente descontentes com piadas contadas por
humoristas brasileiros,
127
policiais representados como corruptos,
128
bem como vrias cartas
pedindo censura para maus tratos sofridos por animais, fossem ces, gatos, cavalos ou
sapos.
129
A categoria dos padres catlicos tambm exigia melhor tratamento por parte das
novelas, especialmente quando se insinuava a possibilidade de ruptura do voto de castidade,
130
ou a existncia de um padre ladro.
131
Alis, religiosidade em geral era um tema constante,
prevalecendo nas cartas e na DCDP um enfoque favorvel Igreja Catlica: padres e bispos
catlicos pediam censura de temas diversos
132
e pessoas comuns sempre reclamavam quando
smbolos sagrados eram atingidos por msicas, filmes ou novelas.
133
Quando Ruth Escobar
resolveu encenar o texto Missa leiga numa igreja de So Paulo, o diretor da DCDP
surpreendeu-se com a aquiscncia do bispo local, j que a atriz era uma das mais visadas pela
censura e pela comunidade de informaes.
134
As igrejas protestantes no recebiam o mesmo
tratamento, sendo, na verdade, vtimas de acusao de fanatismo,
135
tanto quanto a
Umbanda, quando retratada em filmes, merecia exame censrio mais rigoroso que os de
praxe.
136
A proibio de Je vous salue, Marie, em 1985, seria apenas mais um servio
costumeiro da DCDP e no uma excepcionalidade.
137
19
Mas, seguramente, a maior parte das cartas abordava as questes propriamente morais,
especialmente aquelas relacionadas sexualidade. Mesmo os cartazes mais ousados dos
filmes deveriam ser censurados,
138
os cartazes bandalhos [...] libertinos e asquerosos, no
dizer de um missivista que protestava contra a generalizada aceitao de todos os
excessos,
139
pois, aos que desconheciam o problema j mencionado da censura com a J ustia
Federal, revoltava a indiferena do governo pornografia.
140
As revistas de entretenimento
viam suas tiragens aumentarem quando abordavam matrias sobre sexo, mas tambm corriam
o risco de serem apreendidas, pois leitores vigilantes pediam DCDP que as censurassem.
141
Revoltados com as fotos erotizadas publicadas por Manchete logo aps o carnaval de 1976, os
signatrios do abaixo-assinado de protesto encaminhado DCDP revelavam sua nostalgia
pelos bons tempos, quando a mocinha de fantasia simples ou o semblante msculo e
descontrado do jovem sincero eram retratados.
142
Sempre preocupados com a educao dos
mais jovens, livros entendidos como pornogrficos, como Menino de engenho, no deveriam
ser usados no segundo grau, afinal perguntava-se a me preocupada , para se passar no
vestibular preciso saber pornografia?
143
Quando, no programa matinal TV Mulher, da Rede
Globo, a sexloga Martha Suplicy mostrou um desenho da vagina, a reao de um
telespectador foi imediata, escrevendo DCDP, pois, para ele, o ato foi revoltante, imoral,
indecente e pornogrfico. Neste ltimo caso, o missivista estava sendo mais radical que os
censores: um deles, consultado, entendeu que o programa era de bom nvel.
144
Temas dos mais polmicos, a apario do nu masculino e o homossexualismo tambm
se inserem nesse contexto de censura moral. Muitas cartas registraram os assuntos. O
homossexualismo, para uma mulher que escreveu ao ministro da J ustia, era causado pelo
abandono da prtica de educar-se os jovens em colgios separados, uma educao de
rendinhas e perfume para as meninas e de botinas e cigarro para os meninos.
145
Todo tipo
de meno ao homossexualismo motivava reclamaes,
146
especialmente quando relacionada
a artistas famosos: muitos gays esto, para nosso descrdito e vergonha, brilhando na
constelao artstica nacional [...] Se, como soubemos, a AIDS, realmente, ataca os putos, que
ela, falta de coragem para uma sanidade moral, seja muito bem vinda.
147
Em 1985, o diretor
da DCDP resolveu erradicar insinuaes de homossexualismo na TV atravs da Instruo
Normativa n. 3.
148
O corpo nu do homem, novidade na mdia dos anos 1970, tambm motivou
pedidos de censura: calendrios com homens sem roupas,
149
jogador de futebol nu em
vestirio de estdio,
150
publicidade de cueca na TV que mostrava os volumosos rgos
sexuais do modelo.
151
O contato com as cartas encaminhadas DCDP talvez choque pelo radicalismo das
20
posies conservadoras aqueles que enfatizem a memria da resistncia quando o tema da
censura durante o regime militar mencionado. No h dvida de que parte da memorialstica
mencionada no incio deste artigo privilegiou a leitura de tais atos, sendo bastante conhecidas,
por exemplo, a estratgia de O Estado de S. Paulo de citar trechos de Os lusadas, de Cames,
para supostamente denunciar a censura, ou as passeatas de artistas de teatro protestando
contra os desmandos da DCDP. No se trata de privilegiar um ou outro aspecto, resistncia ou
apoio censura, mas de tambm recuperar, para uma leitura histrica mais refinada do
perodo, a aquiescncia e o colaboracionismo de muitos.
Se causa surpresa que peam censura censura, mais surpreendente seria encontrar
missivistas corajosos que a confrontassem, criticando a DCDP durante o regime militar,
exigindo seu fim e expondo-se, assim, a toda sorte de retaliao. Rarssimas manifestaes de
crtica desse tipo foram enviadas Diviso, no chegando a 2% e, dentre essas, somente uma
carta realmente fazia crtica censura, mas foi redigida em 1969, dois meses depois do AI-5,
quando ainda no se podia bem aquilatar o alcance da represso que viria. Provinha do Clube
Positivista e seu diretor-secretrio protestava contra a interdio de peas teatrais, medida que
revelava as fraquezas e imposturas do regime.
152
Em 1983, um homem dirigiu-se diretora
da Diviso dizendo-se Z Povinho, questionando-a quanto ao direito de assistirmos [a]o
que gostamos, j que era viciado em filmes pornogrficos. Dizia que os censores eram
privilegiados por poderem ver todos os filmes de sua predileo e que ele sentia-se roubado
quando percebia os cortes impostos pela censura. Pedia, arrebatado: Sra. Solange, libera
logo, sem cortes, poxa, principalmente o Tem piranha no aqurio que o recordista de vetos.
No se esquea dos filmes do Davi Cardoso, Mulher tentao e A noite das taras n. 2.
153
Mas o que prevalecia era a franca colaborao. Contrrio existncia de livrarias que,
no centro da cidade de So Paulo, funcionando por altas horas, vendiam livros pornogrficos,
um cidado percorria a avenida So J oo numa patrulha moral, e enviava ao ministro da
J ustia o relatrio de suas atividades, denunciando os estabelecimentos que exibissem livros
erticos: um prazer colaborar com o Governo [...] eu me alisto, voluntariamente, para
combat-la [a pornografia].
154
Do mesmo modo, a leitura atenta que um homem fazia da
revista Cime no deixou escapar o fato de que, na seo de cartas, uma jovem menor de
idade recebera orientao sexual. Ele escreveu, incontinenti, ao ministro Falco, que oficiou a
DCDP, sendo o diretor-comercial da editora advertido. O cidado foi posteriormente
informado das providncias pelo diretor da DCDP, que lhe agradeceu a patritica atitude.
155
Resultados concretos como este ltimo no eram infreqentes, havendo vrios casos de
cartas que provocaram aes imediatas dos responsveis pela censura. Os cinemas de J uiz de
21
Fora, em 1973, burlavam a censura exibindo filmes proibidos. Foram coibidos graas a um
morador da cidade.
156
Providncias enrgicas tambm foram tomadas contra um programa
de auditrio, pois militares aposentados denunciaram que a bandeira nacional, portada por
moas sumariamente vestidas [...] sem guardarem a reverncia e idolatria devidas, usaram o
pavilho para cobrirem seus colos quase desnudos, sendo depois a bandeira transformada
em estandarte de escola de samba enquanto as moas danavam estrepitosamente com
provocantes requebrados.
157
Depois de advertir a Editora Bloch, motivado por carta de um
pai de famlia que denunciara matria publicada pela Manchete, o diretor da DCDP
agradeceu o missivista, at porque boa parcela de brasileiros [...] atacam e criticam a
Censura Federal.
158
Esses resultados imediatos, porm, aconteciam somente no sentido de
mais censurar: quando um homem solicitou a liberao de uma msica, cuja interdio
parecia-lhe despropositada, recebeu uma resposta negativa, pois somente o autor ou pessoa
credenciada por ele poderia pedir a liberao.
159
Essas iniciativas de colaborao tambm podiam surgir de um descontentamento com o
desempenho da censura, que para muitos sempre claudicava, no sendo enrgica o suficiente.
De modo que muitas sugestes tcnicas eram encaminhadas objetivando melhorar a eficcia
da censura. Assim, a Diviso deveria agir com mais cuidado, evitando transformar a censura
de uma obra em publicidade para a mesma.
160
Revistas e livros pornogrficos deveriam ter sua
venda proibida em bancas de jornais, ficando restritos a livrarias especialmente autorizadas a
comercializarem tal literatura mals.
161
O clero catlico deveria ser convocado a colaborar
com a censura, em funo do poder descomunal da Igreja, e um sistema de rodzio dos
censores poderia evitar que os funcionrios ficassem desatentos em funo da rotina do
trabalho.
162
Salas especiais para filmes de artes poderiam evitar que pelculas mais ousadas
fossem amplamente exibidas.
163
Como se v, algumas poucas cartas buscavam evitar a
censura, propondo sadas alternativas interdio completa de uma obra: em carta ao ministro
da J ustia, um cidado propunha que uma frase alertando sobre a entrada no ar de programas
inconvenintes permitisse ao prprio telespectador o exerccio de sua censura privada.
164
As cartas buscavam resultados concretos, que muitas vezes eram obtidos. Seus autores
exigiam aes rpidas da DCDP e ameaavam recorrer a instncias superiores caso no
obtivessem pronto atendimento: se maiores medidas no forem tomadas, imediatamente, [...]
uma carta neste sentido seguir ao Senhor Presidente;
165
no obtendo aquiescncia ao meu
apelo [...] descrerei [...] de minha ptria e de seus governantes.
166
Porm, a rotina burocrtica
do recebimento das cartas transparece nos despachos internos da DCDP. Por exemplo, a falta
de atualizao das normas censrias era usada pelo diretor da DCDP como uma espcie de
22
resposta-padro para qualquer reclamao. Ele apenas mandava um assessor dar uma resposta
dizendo que est em estudo nova legislao etc. e tal.
167
Mas as cartas eram usadas como
justificativa das aes punitivas da DCDP, quando o rgo mencionava, em suas
admoestaes a empresas, as reclamaes oriundas de segmentos representativos da
sociedade.
168
Curiosamente, no foi durante o perodo admitido como o de auge da represso
(governos da J unta Militar e de Emlio Mdici) que houve mais cartas pedindo censura, tanto
quanto tambm no foi nessa fase que houve mais censura. A maior parte das cartas
concentra-se entre os anos de 1976 e 1980, portanto, aps a posse do governo da abertura
poltica de Ernesto Geisel, adentrando o de J oo Figueiredo.
169
Do mesmo modo, a maior
porcentagem de peas teatrais censuradas, dentre as submetidas anlise da DCDP, foi
registrada em 1978 (quase 3%). Quanto aos filmes, o maior ndice verificou-se em 1980
(quase 1,5%).
170
Esta mais uma diferena entre a censura da imprensa e a de diverses
pblicas, pois bvio que a primeira teve correspondncia com o perodo de maior atividade
repressiva. A censura da moral e dos bons costumes obedecia a outros ditames, embora no
tenha ficado imune s peculiaridades do regime militar. Ela dizia respeito a antigas e
renovadas preocupaes de ordem moral, muito especialmente vinculadas s classes mdias
urbanas.
A partir da posse de Ernesto Geisel e do anncio da abertura, a censura viveu dias de
grande preocupao e flagrante decadncia. Com a poltica governamental de abertura no
campo das diverses pblicas, veio o primeiro baque: a regulamentao do Conselho
Superior de Censura. A DCDP foi obrigada a adequar os ditames de censura aos padres
estabelecidos pelo novo rgo
171
e desde ento viu-se no mais como simples instncia
censria, mas como rgo moderador entre a liberdade de criao e expresso dos artistas e
criadores e o grande pblico, procurando se posicionar melhor neste momento de transio
por que passa a sociedade nacional, tentando encontrar o ponto ideal de atuao.
172
Assustados com as notcias de fim da censura, a DCDP promovia seminrios buscando
encontrar uma adequao aos novos tempos,
173
mas o clima de intranqilidade grassava entre
os censores:
O noticirio dos jornais, ao longo do ano [1981], dando conta da sada do rgo censrio de dentro da
estrutura da Polcia Federal a destino incerto e no sabido; a discriminao funcional do quadro de
Tcnico de Censura em relao aos Delegados e Peritos; a atuao extremamente liberal do Conselho
Superior de Censura, produziram, no nosso corpo funcional, muita insegurana e conseqente
instabilidade emocional, o que, obviamente, deve ter-se refletido no nosso trabalho.
174
No obstante buscasse adequar-se aos novos tempos, discutindo uma melhor definio
dos critrios censrios, a Diviso no resistiria s constantes campanhas [...] desfechadas
23
atravs dos meios de comunicao, que procuram denegrir o rgo e seus titulares.
175
Decepcionado, o chefe da SCDP/RS, em 1982, reconhecia: realmente, os tempos so
outros.
176
Tambm as pessoas comuns sentiam a mudana, e, para desespero da DCDP, a
acusavam de omitir-se: [...] Se no bastasse a crise, chegamos ao caos, sem a mnima
interveno da censura. Onde voc est?, perguntava, perplexa, uma missivista, que
escarnecia com a frase meus psames, censura!.
177
A Censura virou casa da me J oana,
dizia outro.
178
O golpe final viria com a Constituio de 1988, e o rgo resistiu o quanto pde:
As notcias sobre transformao na Censura Federal, divulgadas pelas empresas jornalsticas,
acompanhando o processamento da Constituinte, fizeram reduzir alguns nmeros em nossa estatstica.
Entretanto, temos procurado manter os estabelecimentos bem informados atravs de convites para
esclarecimentos, advertncias e autuaes.
179
Mas o fim da DCDP j era previsvel. Como disse o responsvel pela censura em
Sergipe, cinco meses antes da promulgao da nova Constituio, no conceito popular a
Censura Federal j encerrou suas portas.
180
Doravante, para onde seriam enviadas as cartas
dos guardies da reta moral e dos costumes elevados?
NOTAS
1
As pesquisas do autor so apoiadas pelo CNPq e pela Faperj. Agradeo a Ronald Polito pela
leitura preliminar e correes sugeridas. Este artigo foi publicado por Topoi - Revista de
Histria, Rio de J aneiro: UFRJ . n. 5, pp. 251-286, set. 2002.
2
Publicadas originalmente no Correio da Manh, as matrias foram coligidas em Cony,
Carlos Heitor. O ato e o fato: crnicas polticas. Rio de J aneiro: Civilizao Brasileira, 1964.
Alves, Marcio Moreira. Torturas e torturados. Rio de J aneiro: [s.n.], 1964.
3
o caso da crnica poltica da Coluna do Castello que o jornalista Carlos Castello Branco
publicou no Jornal do Brasil entre 1962 e 1993.
4
Ver, por exemplo, Freitas, Alpio de. Resistir preciso: memria do tempo da morte civil do
Brasil. Rio de J aneiro: Record, 1981. Tavares, Flvio. Memrias do esquecimento. So Paulo:
Globo, 1999. Coelho, Marco Antnio Tavares. Herana de um sonho: as memrias de um
comunista. Rio de J aneiro: Record, 2000.
5
Abreu, Hugo. O outro lado do poder. Rio de J aneiro: Nova Fronteira, 1979.
6
Camargo, J os Maria de Toledo. A espada virgem: os passos de um soldado. So Paulo:
cone, 1995 e Passarinho, J arbas. Um hbrido frtil. Rio de J aneiro: Expresso e Cultura,
1996.
7
Ustra, Carlos Alberto Brilhante. Rompendo o silncio: OBAN, DOI/CODI. 29 set. 70 - 23
jan. 74. Braslia: Editerra, 1987.
8
Ver, dentre outros, Francis, Paulo. Trinta anos esta noite: 1964, o que vi e vivi. So Paulo:
Companhia das Letras, 1994, Mota, Nelson. Noites tropicais: solos, improvisos e memrias
musicais. Rio de J aneiro: Objetiva, 2000 e Corra, Villas-Bas. Conversa com a memria.
Rio de J aneiro: Objetiva, 2002.
9
Ver, por exemplo, o conjunto de entrevistas com militares publicadas pelo Centro de
Pesquisa e Documentao de Histria Contempornea do Brasil (CPDOC) da Fundao
24
Getlio Vargas. Ver tambm o acervo de entrevistas Memrias da Esquerda mencionado no
artigo Por uma histria da esquerda brasileira, de Maria Paula Nascimento Arajo,
publicado neste nmero.
10
Autores como Bolivar Lamounier, Fbio Wanderley Reis e Wanderley Guilherme dos
Santos publicaram diversos trabalhos de alto nvel na perspectiva mencionada.
11
Ver, como exemplos, Couto, Ronaldo Costa. Histria indiscreta da ditadura e da abertura.
Brasil: 1964-1985. Rio de J aneiro: Record, 1998 e Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo a
Tancredo. 1964-1985. Rio de J aneiro: Paz e Terra, 1991.
12
Como exemplo, Stepan, Alfred C. Os militares na poltica. Rio de J aneiro: Artenova, 1975;
Klein, Lucia, Figueiredo, Marcus F. Legitimidade e coao no Brasil ps-64. Rio de J aneiro:
Forense-Universitria, 1978 e Alves, Maria Helena Moreira. Estado e oposio no Brasil
(1964-1984). Petrpolis: Vozes, 1984.
13
Refiro-me, principalmente, aos documentos dos diversos DOPS, aos papis da Diviso de
Segurana e Informaes do Ministrio da J ustia (custodiados pelo Arquivo Nacional) e ao
material sobre a censura. Recentemente, o Departamento de Polcia Federal abriu seu acervo
sobre do perodo militar.
14
Para obras recentes que usaram acervos produzidos pelo regime militar ver, alm de meus
prprios trabalhos, Serbin, Kenneth P. Dilogos na sombra: bispos e militares, tortura e
justia social na Ditadura. So Paulo: Companhia das Letras, 2001 e Kushnir, Beatriz. Ces
de guarda: jornalistas e censores, do AI-5 Constituio de 1988. Tese de doutorado
apresentada ao Departamento de Histria da Unicamp. Campinas, 2001.
15
Nossas atividades no Programa de Ps-graduao em Histria Social da UFRJ , frente do
Grupo de Estudos sobre a Ditadura Militar, tm sido orientadas no sentido de confrontar essas
idias. Para uma avaliao das especificidades da propaganda poltica ver Fico, Carlos.
Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginrio social no Brasil. Rio de J aneiro:
Fundao Getlio Vargas, 1997. Para um estudo das diferenas entre os rgos de
informaes e os de segurana ver Fico, Carlos. Como eles agiam. Os subterrneos da
ditadura militar: espionagem e polcia poltica. Rio de J aneiro: Record, 2001.
16
Decreto n. 20.493 de 24 de janeiro de 1946.
17
Os melhores resumos encontram-se em Kushnir, Beatriz. Op. cit. e em Smith, Anne-Marie.
Um acordo forado: o consentimento da imprensa censura no Brasil. Rio de J aneiro:
Editora Fundao Getlio Vargas, 2000.
18
Stephanou. Alexandre Ayub. Censura no regime militar e militarizao das artes. Porto
Alegre: Edipucrs, 2001.
19
Viana Filho, Lus. O governo Castelo Branco. Rio de J aneiro: J . Olympio, 1975. p. 97.
20
Fico, Carlos. Op. cit. p. 237.
21
Alm das obras j mencionadas, ver, tambm, Aquino, Maria Aparecida de. Censura,
imprensa, estado autoitrio (1968-1978). Bauru: Edusc, 1999 e Soares, Glucio Ary Dillon.
A censura durante o regime autoritrio. Revista Brasileira de Cincias Sociais, vol. 4, n. 10,
p. 21-43, jun. 1989.
22
Fico, Carlos. Reinventando o otimismo. Rio de J aneiro: FGV, 1997. p. 89.
23
exatamente o que nega o importante estudo de Soares j mencionado.
24
Aquino, Maria Aparecida de. Op. cit. p. 207.
25
O episdio est descrito em Smith, Anne-Marie. Op. cit. p. 130-132.
26
O ofcio que registra o despacho, datado de 1971, na verdade contm numerao seqencial
a que estava sendo usada em 1973. Ver, a propsito, Souza, Maurcio Maia de. Henfil e a
censura: o papel dos jornalistas. Dissertao de mestrado apresentada Escola de
Comunicao e Artes da USP. So Paulo, 1999. p. 81.
27
Ofcio GM/0165-B do ministro da J ustia ao presidente da Repblica, supostamente de 29
25
de maro de 1971, Fundo Diviso de Censura de Diverses Pblicas, Arquivo Nacional,
Coordenao Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal, Srie Correspondncia
Oficial, Subsrie Manifestaes da Sociedade Civil, Caixa 1, doravante identificada
apenas como Caixa 1. Adauto Cardoso, quando da renncia, teria jogado longe sua toga.
Adauto Cardoso tambm fora o piv da crise que levara ao fechamento do Congresso
Nacional, em 1966, quando recusara-se, como presidente da Cmara, a aceitar a cassao de
parlamentares. Ver Castello Branco, Carlos. Os militares no poder: Castelo Branco. Rio de
J aneiro: Nova Fronteira, 1977. p. 8.
28
Kushnir, Beatriz. Op. cit. pp. 43-44 e 115.
29
Smith, Anne-Marie. Op. cit. p. 96.
30
Kushnir, Beatriz. Op. cit. p. 120.
31
Os decretos reservados foram editados pelo regime militar entre 1971 e 1985 e trataram,
sobretudo, de assuntos relacionados comunidade de segurana e de informaes.
32
Ofcio GM/0165-B do ministro da J ustia ao presidente da Repblica, supostamente de 29
de maro de 1971, Caixa 1.
33
Kushnir, Beatriz. Op. cit. pp. 43-44, 115.
34
Opinio contrria pode ser vista em Kushnir, Beatriz. Op. cit. p. 117.
35
Prembulo do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, posteriormente conhecido como AI-1.
36
Soares, Glucio Ary Dillon. Op. cit. p. 34.
37
Kushnir, Beatriz. Op. cit. p. 127.
38
Informao da DCDP de 10 de julho de 1972, , Fundo Diviso de Censura de Diverses
Pblicas, Arquivo Nacional, Coordenao Regional do Arquivo Nacional no Distrito
Federal, Srie Correspondncia Oficial, Subsrie Informaes Sigilosas, nica caixa,
doravante identificada apenas como IS.
39
Ofcio do diretor-geral do DPF ao ministro da J ustia, de 31 de outubro de 1975, IS.
40
DCDP. Relatrio de 1981. fl. 7, Fundo Diviso de Censura de Diverses Pblicas,
Arquivo Nacional, Coordenao Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal, Srie
Relatrios de Atividades, doravante identificada apenas como RO.
41
DCDP. Relatrio de 1983. fls. 4-5. Grifado no original, RO.
42
Carta ao presidente Sarney, encaminhada DCDP, de 29 de setembro de 1985. Fundo
Diviso de Censura de Diverses Pblicas, Arquivo Nacional, Coordenao Regional do
Arquivo Nacional no Distrito Federal, Srie Correspondncia Oficial, Subsrie
Manifestaes da Sociedade Civil, Caixa 3, doravante identificada apenas como Caixa 3.
43
Ver Fico, Carlos. Como eles agiam. Rio de J aneiro: Record, 2001. p. 218.
44
Carta ao ministro da Educao e Cultura, encaminhada DCDP, de 31 de maio de 1971,
Caixa 1.
45
Carta ao ministro da J ustia, encaminhada DCDP, de 28 de maio de 1972, Caixa 1.
46
Carta ao ministro da J ustia, encaminhada DCDP, de 2 de maro de 1977, Fundo Diviso
de Censura de Diverses Pblicas, Arquivo Nacional, Coordenao Regional do Arquivo
Nacional no Distrito Federal, Srie Correspondncia Oficial, Subsrie Manifestaes da
Sociedade Civil, Caixa 2, doravante identificada apenas como Caixa 2.
47
Carta ao Comandante da Polcia Federal em So Paulo, encaminhada DCDP, de 1 de
agosto de 1975, Caixa 1.
48
Carta ao diretor da DCDP, de 16 de novembro de 1971, Caixa 1.
49
Kucinski, Bernardo. A sndrome da antena parablica: tica no jornalismo brasileiro. So
Paulo: Fundao Perseu Abramo, 1998 apud Kushnir, Beatriz. Op. cit. p. 40.
50
Smith, Anne-Marie. Op. cit. p. 135.
51
Soares, Glucio Ary Dillon. Op. cit. p. 38.
52
Aquino, Maria Aparecida de. Op. cit. p. 222.
26
53
Para Soares, a indstria cinematogrfica, assim como as novelas de televiso, passaram
quase inclumes, sendo poucas as excees. Op. cit. p. 32.
54
Ofcios do diretor da DCDP Rede Globo de 26 e 27 de junho de 1978, Caixa 2.
55
Ofcio do diretor da DCDP Rede Tupi de 2 de maio de 1978, Caixa 2.
56
Ofcio de Wilson A. Aguiar da Rede Globo ao SCDP-DF de 2 de junho de 1971, Caixa 1.
57
DCDP. Relatrios de 1974 a 1977, RO.
58
Ofcio do diretor da DCDP ao BNDE de 15 de maio de 1978, Caixa 2.
59
SCDP/SP. Relatrio de 1982, RO.
60
Carta de J . B. de Oliveira Sobrinho DCDP de 28 de maio de 1974, Caixa 1.
61
Carta de Chacrinha, sem data, ao Conselho Superior de Censura, onde foi lida em 10 de
julho de 1980, Caixa 2.
62
Idem.
63
Carta de 14 de outubro de 1976 e ofcio do diretor da DCDP de 5 de novembro de 1976,
Caixa 2.
64
Carta de J . B. de Oliveira Sobrinho DCDP de 29 de outubro de 1976 e ofcio do diretor da
DCDP ao superintendente regional do DPF-RJ de 5 de novembro de 1976, Caixa 2.
65
Carta de J . B. de Oliveira Sobrinho DCDP de 31 de janeiro de 1978 e ofcio do diretor da
DCDP, em resposta, de 10 de fevereiro de 1978, Caixa 2.
66
Carta de Mauro Borja Lopes, diretor executivo da Rede Globo, ao diretor da DCDP em 23
de julho de 1979, Caixa 2.
67
Ofcio do diretor-geral do DPF ao diretor da Rede Globo de 26 de agosto de 1975, Caixa 1.
68
Ofcio de Wilson A. Aguiar da Rede Globo ao SCDP/DF de 2 de junho de 1971, Caixa 1.
69
Cpia enviada por J . B. de Oliveira Sobrinho DCDP do memorando interno, sobre o tema,
em 31 de maio de 1985, Caixa 3.
70
Soares, Glucio Ary Dillon. Op. cit. p. 34.
71
Dados extrados dos relatrios da DCDP referentes aos anos mencionados, RO.
72
DCDP. Relatrio de 1974, RO.
73
Em 1977 um tcnico foi para a Frana e, em 1981, um estava na Itlia fazendo um curso de
especializao em artes. DCDP. Relatrios de 1977 e 1981, RO.
74
DCDP. Relatrio de 1977, RO.
75
DCDP. Relatrio de 1984, RO.
76
Relatrio de 21 de novembro de 1960 ao diretor da Diviso de Operaes do DPF, RO.
77
Ofcio do chefe do SCDP/RJ ao diretor da DCDP de 18 de maio de 1976, IS.
78
Portaria n. 903 do ministro da J ustia de 14 de dezembro de 1977.
79
Idem.
80
DCDP. Relatrio de 1973, RO.
81
DCDP. Relatrio de 1984, RO.
82
Carta ao ministro de J ustia de 26 de outubro de 1979, Caixa 2.
83
Ofcio do diretor-geral do DPF ao secretrio-geral do Conselho de Segurana Nacional de 9
de outubro de 1968, IS.
84
SCDP/RS. Relatrio de 1983, RO.
85
DCDP. Relatrio de 1984, RO.
86
Ofcio do diretor da DCDP ao gabinete do senador Fernando Henrique Cardoso de 3 de
dezembro de 1985, Caixa 3.
87
Carta do juiz de Menores do Rio de J aneiro ao diretor da DCDP em 20 de julho de 1979,
Caixa 2.
88
Carta ao ministro da J ustia, encaminhada DCDP, de 29 de setembro de 1978 e ofcio do
diretor da DCDP de 9 de novembro de 1978, Caixa 2.
89
Ofcio do diretor-geral do DPF ao ministro da J ustia de 29 de junho de 1976, Caixa 2.
27
90
Carta ao diretor da DCDP de 1 de setembro de 1970, Caixa 1.
91
Carta ao diretor da DCDP de 1 de dezembro de 1970, Caixa 1.
92
Carta ao ministro da J ustia, encaminhada DCDP, de 12 de maro de 1977 e ofcio do
diretor da DCDP de 18 de abril de 1977, Caixa 2.
93
Carta de 23 de setembro de 1974, Caixa 1.
94
Carta de 1 de agosto de 1978, Caixa 2.
95
Carta de 3 de junho de 1971, Caixa 1.
96
Carta de 28 de junho de 1981, Caixa 2.
97
Carta ao ministro do Exrcito, encaminhada DCDP, de 15 de maro de 1978, Caixa 2.
98
Carta de 22 de maro de 1977, Caixa 2.
99
Carta de 6 de setembro de 1983, Caixa 3.
100
Carta datada de janeiro de 1983, Caixa 2.
101
Carta de 23 de junho de 1977, Caixa 2.
102
Carta de 23 de julho de 1977, Caixa 1.
103
Carta de 8 de junho de 1978, Caixa 2.
104
Cartas de 1 a 18 de outubro de 1979, Caixa 2.
105
Carta de 27 de maio de 1985, Caixa 3.
106
Carta de 28 de fevereiro de 1977, Caixa 2.
107
Carta de 18 de setembro de 1972, Caixa 1.
108
Carta de 1 de fevereiro de 1974, Caixa 1.
109
Carta de 25 de outubro de 1978, Caixa 2.
110
Carta datada de novembro de 1976, Caixa 2.
111
Carta de 18 de abril de 1978, Caixa 2.
112
Carta de 17 de maio de 1982, Caixa 2.
113
Carta de 11 de junho de 1981, Caixa 2.
114
Carta de 5 de agosto de 1971, Caixa 1.
115
Carta de 4 de outubro de 1971, Caixa 1.
116
Carta de 5 de novembro de 1972, Caixa 1.
117
Carta de 19 de maio de 1976, Caixa 2.
118
Carta de 16 de maro de 1979, Caixa 2.
119
Informao do DPF de 5 de novembro de 1970, IS.
120
Resposta do diretor da DCDP, de 18 de agosto de 1975, carta datada de agosto de 1975,
Caixa 1.
121
Ofcio ao ministro da J ustia do diretor-geral do DPF de 29 de junho de 1976, RO.
122
Ver, por exemplo, documento sobre a TV elaborado pela Associao de Municpios da
Regio de Urubupung, encaminhado DCDP pelo ministro Golbery do Couto e Silva em 29
de setembro de 1979, Caixa 2.
123
Carta de 21 de maio de 1974, Caixa 1.
124
Carta de 8 de fevereiro de 1985, Caixa 3.
125
Carta de 26 de novembro de 1979, Caixa 2.
126
Carta de 26 de junho de 1972, Caixa 1.
127
Carta de 22 de setembro de 1970, Caixa 1.
128
Carta de 30 de novembro de 1971, Caixa 1.
129
Cartas de 21 de novembro de 1969, Caixa 1; de 19 de outubro e de 10 de novembro de
1981, Caixa 2; de 2 de agosto e de 1983 e de 15 de janeiro de 1985, Caixa 3.
130
Carta de 2 de agosto de 1970; abaixo-assinado de 28 de outubro de 1971 e carta de 29 de
outubro de 1971, Caixa 1.
131
Carta de 5 de fevereiro de 1985, Caixa 3.
132
Carta do bispo-prelado de Tef ao presidente da Repblica de 3 de junho de 1972, Caixa 1.
28
133
Carta de 7 de junho de 1974, Caixa 1.
134
Ofcio do diretor da DCDP ao cardeal-arcebispo de So Paulo de 27 de dezembro de 1971,
Caixa 1. Sobre o tema ver, ainda, Relatrio da Assessoria Especial do DPF de 17 de
novembro de 1971 e Informao do DPF/SP de 1 de fevereiro de 1972, IS.
135
Carta datada de maro de 1979, Caixa 2.
136
Resposta do diretor da DCDP, de 13 de janeiro de 1977, carta do mesmo ms
encaminhada ao presidente da Repblica, Caixa 2.
137
Para exemplo de pedido de censura deste filme ver carta de 27 de novembro d 1985, Caixa
3.
138
Cartas de 5 de maro de 1980 e 27 de agosto de 1980, Caixa 2, dentre outras.
139
Carta de 1 de julho de 1980, Caixa 2.
140
Carta de 24 de maro de 1980, Caixa 2.
141
Abaixo-assinado de 25 de fevereiro de 1971 contra a revista Manchete, Caixa 1.
142
Abaixo-assinado de 5 de maro de 1977 contra a revista Manchete, Caixa 2.
143
Carta de 12 de janeiro de 1977, Caixa 2.
144
Carta de 27 de novembro de 1980, Caixa 2.
145
Carta de 2 de setembro de 1974, Caixa 1.
146
Cartas de 23 de abril de 1980 e 24 de agosto de 1982, Caixa 2; de 18 e 23 de janeiro de
1985, de 2 de agosto de 1985, Caixa 3, dentre outras.
147
Carta de 7 de outubro de 1985, Caixa 3. Acusaes contra Denner Pamplona e Ney
Matogrosso podem ser vistas nas cartas de 6 de outubro de 1978 e de 3 de novembro de 1978,
Caixa 2.
148
Ver carta de J . B. de Oliveira Sobrinho, da Rede Globo, de 15 de agosto de 1985, contra a
Instruo, Caixa 3.
149
Carta datada de junho de 1974, Caixa 1.
150
Carta de 4 de novembro de 1983, Caixa 3.
151
Carta de 2 de setembro de 1981, Caixa 2.
152
Carta de 6 de fevereiro de 1969, Caixa 1. Ver tambm, do mesmo autor, carta de 26 de
setembro de 1968, Caixa 1.
153
Carta de 27 de abril de 1983, Caixa 3. Grifado no original.
154
Carta de 23 de julho de 1977, Caixa 1.
155
Carta de 30 de abril de 1978, Caixa 2.
156
Carta de 8 de maro de 1973, Caixa 2.
157
Carta de 1 de julho de 1974, Caixa 1.
158
Carta de 8 de junho de 1978, Caixa 2.
159
Ofcio do diretor da DCDP de 11 de setembro de 1979, Caixa 2.
160
Carta de 27 de janeiro de 1977, Caixa 2.
161
Carta de 14 de julho de 1976, Caixa 2.
162
Carta de 18 de setembro de 1972, Caixa 1.
163
Carta de 18 de abril de 1979, Caixa 2.
164
Carta de 21 de abril de 1981, Caixa 2.
165
Carta de 21 de maio de 1974, Caixa 1.
166
Carta de 18 de novembro de 1972, Caixa 1.
167
Despacho do diretor da DCDP ao requerimento da Cmara Municipal de Cruz Alta de 18
de junho de 1979, Caixa 2.
168
Carta de 18 de janeiro de 1982, Caixa 2.
169
Quase metade das cartas preservadas foi enviada entre 1976 e 1980.
170
Dados extrados de todos os relatrios da DCDP.
171
DCDP. Relatrio de 1980, RO.
29
172
DCDP. Relatrio de 1981, RO.
173
Ver resposta da diretora da DCDP ao requerimento da Cmara Municipal de So J os dos
Campos de 30 de dezembro de 1981, Caixa 2.
174
SCDP/RS. Relatrio de 1981, RO.
175
DCDP. Relatrio de 1982, RO. Ver, tambm, SCDP/SP. Relatrio de 1982, RO.
176
SCDP/RS. Relatrio de 1982, RO.
177
Carta de 24 de novembro de 1983, Caixa 3.
178
Carta de 17 de janeiro de 1984, Caixa 3.
179
SCDP/SE. Relatrio de outubro de 1987, RO.
180
SCDP/SE. Relatrio de maio de 1988, RO.
Você também pode gostar
- 20 Dicas de 0 A 3 Anos Disciplina Positiva 1Documento23 páginas20 Dicas de 0 A 3 Anos Disciplina Positiva 1Ednilson Gomes Matias88% (8)
- Soluçao para Um Namoro AnsiosoDocumento27 páginasSoluçao para Um Namoro AnsiosoWell Soares100% (3)
- Apostila Planejamento Carreira Estácio PDFDocumento201 páginasApostila Planejamento Carreira Estácio PDFMaycon Santos0% (1)
- Estatuto Da Assembleia de Deus No PernambucoDocumento31 páginasEstatuto Da Assembleia de Deus No PernambucoBielRogersJr.100% (1)
- A Resistência da Juventude Universitária Católica ao projeto de Ditadura: um legado à democraciaNo EverandA Resistência da Juventude Universitária Católica ao projeto de Ditadura: um legado à democraciaAinda não há avaliações
- Acetilcolina PDFDocumento3 páginasAcetilcolina PDFmarciokellyAinda não há avaliações
- Operação Condor, operações com dor: Conexões repressivas em região de fronteiraNo EverandOperação Condor, operações com dor: Conexões repressivas em região de fronteiraAinda não há avaliações
- Manual 8854-AlimentaçãoDocumento173 páginasManual 8854-AlimentaçãoLuisa Campos100% (4)
- PLNM Ficha 3 - N2Documento3 páginasPLNM Ficha 3 - N2Liliana FerreiraAinda não há avaliações
- A História Das Ligas CamponesasDocumento48 páginasA História Das Ligas CamponesasSilvio MarquardtAinda não há avaliações
- Estatuto Da Igualdade Racial:No EverandEstatuto Da Igualdade Racial:Ainda não há avaliações
- A Confederação Nagô-Macamba-Malunga dos Abolicionistas: O Movimento Social Abolicionista no Rio de Janeiro e as Ações Políticas de Libertos e Intelectuais Negros na Construção de um Projeto de Nação Para o Pós-Abolição no BrasilNo EverandA Confederação Nagô-Macamba-Malunga dos Abolicionistas: O Movimento Social Abolicionista no Rio de Janeiro e as Ações Políticas de Libertos e Intelectuais Negros na Construção de um Projeto de Nação Para o Pós-Abolição no BrasilAinda não há avaliações
- Heloisa STARLING - Os Senhores Das Gerais (Resumo)Documento4 páginasHeloisa STARLING - Os Senhores Das Gerais (Resumo)Ni RamalhoAinda não há avaliações
- Jurandir Malerba - Os Brancos Da Lei - Liberalismo, Escravidao e Mentalidade Patriarcal No Império Do Brasil PDFDocumento193 páginasJurandir Malerba - Os Brancos Da Lei - Liberalismo, Escravidao e Mentalidade Patriarcal No Império Do Brasil PDFCami Poli100% (1)
- HISTÓRIA DAS AMÉRICAS (SÉCULOS XIX, XX e XXI) - NEHA - 2021Documento240 páginasHISTÓRIA DAS AMÉRICAS (SÉCULOS XIX, XX e XXI) - NEHA - 2021Carolina AmaralAinda não há avaliações
- Haitianismo em Cuba e Brasil PDFDocumento29 páginasHaitianismo em Cuba e Brasil PDFJoão Gabriel AscensoAinda não há avaliações
- KNAUSS, Paulo. Usos Do Passado PDFDocumento172 páginasKNAUSS, Paulo. Usos Do Passado PDFmarcioAinda não há avaliações
- Carlos Fico - O Golpe de 1964 - Momentos DecisivosDocumento74 páginasCarlos Fico - O Golpe de 1964 - Momentos DecisivosJimmy MeloAinda não há avaliações
- A tortura como arma de guerra: Da Argélia ao Brasil: como os militares franceses exportaram os esquadrões da morte e o terrorismo de estadoNo EverandA tortura como arma de guerra: Da Argélia ao Brasil: como os militares franceses exportaram os esquadrões da morte e o terrorismo de estadoAinda não há avaliações
- À espera da verdade: empresários, juristas e elite transnacional: histórias de civis que fizeram a ditadura militarNo EverandÀ espera da verdade: empresários, juristas e elite transnacional: histórias de civis que fizeram a ditadura militarAinda não há avaliações
- O Movimento Negro e A Crise Brasileira PDFDocumento13 páginasO Movimento Negro e A Crise Brasileira PDFRegiane Regis100% (2)
- 3 Texto Silvia Miskulin Revolução CubanaDocumento30 páginas3 Texto Silvia Miskulin Revolução CubanaGabrielli GuldoniAinda não há avaliações
- Para Além Da "Guerra SujaDocumento6 páginasPara Além Da "Guerra SujaJulio LavradorAinda não há avaliações
- PSR e Periograma 2021.2Documento44 páginasPSR e Periograma 2021.2José Mário SardinhaAinda não há avaliações
- 1968 - O Ano Que Não TerminouDocumento1 página1968 - O Ano Que Não TerminouLucas Carvalho100% (1)
- 1 A José Murilo de Carvalho A Formação Das AlmasDocumento23 páginas1 A José Murilo de Carvalho A Formação Das AlmasProfa. Ma. Viviane Gonçalves da SilvaAinda não há avaliações
- MARTI E 2 AmericasDocumento322 páginasMARTI E 2 AmericasJ Souza Filho100% (1)
- A Aliança para o Progresso No Brasil de Propaganda Anticomunista A Instrumento de Intervenção Política 1961 1964Documento248 páginasA Aliança para o Progresso No Brasil de Propaganda Anticomunista A Instrumento de Intervenção Política 1961 1964J Gustavo BononiAinda não há avaliações
- SOARES - Glaucio - A Democracia InterrompidaDocumento194 páginasSOARES - Glaucio - A Democracia InterrompidaTeresinha Melo100% (1)
- Texto Base - Interação IntermolecularesDocumento2 páginasTexto Base - Interação IntermolecularesPablo RangelAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento7 páginas1 PBROMÁRIO CHAVES OLIVEIRAAinda não há avaliações
- A Miséria Da Historiografia: Uma Crítica Ao Revisionismo ContemporâneoDocumento4 páginasA Miséria Da Historiografia: Uma Crítica Ao Revisionismo Contemporâneomaurocosta1985Ainda não há avaliações
- Aula17.) ROLLEMBERG, Denise. O Esquecimento Das Memórias.Documento11 páginasAula17.) ROLLEMBERG, Denise. O Esquecimento Das Memórias.Vitor Dias100% (1)
- CARLOS FICO - Regimes Autoritários No Brasil RepublicanoDocumento19 páginasCARLOS FICO - Regimes Autoritários No Brasil RepublicanoAnderson TorresAinda não há avaliações
- America Latina, Ditaduras, Segurança Nacional e Terror de EstadoDocumento7 páginasAmerica Latina, Ditaduras, Segurança Nacional e Terror de EstadooxumiriamAinda não há avaliações
- Oliveira, Maria Da Gloria, A História Disciplinada e Seus Outros - Reflexões Sobre As (In) Utilidades de Uma Categoria PDFDocumento7 páginasOliveira, Maria Da Gloria, A História Disciplinada e Seus Outros - Reflexões Sobre As (In) Utilidades de Uma Categoria PDFDamaris BastosAinda não há avaliações
- Historia OralDocumento11 páginasHistoria OralRenatasoAinda não há avaliações
- REIS FILHO, Daniel Aarão - A Revolução Faltou Ao Encontro, 1990.Documento5 páginasREIS FILHO, Daniel Aarão - A Revolução Faltou Ao Encontro, 1990.Marcello BecreiAinda não há avaliações
- A Fábula Das Três RaçasDocumento4 páginasA Fábula Das Três Raçasangela rossiAinda não há avaliações
- 27 BORGES Nilson A Doutrina de Seguranca Nacional e Os Governos Militares in FERREIRA DELGADO O Brasil Republicano O Tempo Da Ditadura PDFDocumento29 páginas27 BORGES Nilson A Doutrina de Seguranca Nacional e Os Governos Militares in FERREIRA DELGADO O Brasil Republicano O Tempo Da Ditadura PDFGuilherme MachadoAinda não há avaliações
- Alma de Gente NegraDocumento7 páginasAlma de Gente NegraThiago de Carvalho100% (2)
- Wilma Peres Costa Revisitando As Reverberações de Uma Guerra MalditaDocumento35 páginasWilma Peres Costa Revisitando As Reverberações de Uma Guerra MalditaWilma Peres CostaAinda não há avaliações
- Ação Popular em Mauá: Resistência e Solidariedade em Tempos de DitaduraNo EverandAção Popular em Mauá: Resistência e Solidariedade em Tempos de DitaduraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Carlos Fico - História Do Tempo Presente, Eventos Traumáticos e Documentos Sensíveis - o Caso BrasileiroDocumento17 páginasCarlos Fico - História Do Tempo Presente, Eventos Traumáticos e Documentos Sensíveis - o Caso BrasileiroAlice RochaAinda não há avaliações
- FICO, Carlos. Versões e Controvérsias Sobre 1964 e A Ditadura Militar.Documento32 páginasFICO, Carlos. Versões e Controvérsias Sobre 1964 e A Ditadura Militar.amatobrunogabrielAinda não há avaliações
- Negros e Brancos em São Paulo, 1888-1988Documento424 páginasNegros e Brancos em São Paulo, 1888-1988Bryan Lucas100% (2)
- AMAURI Mendes PereiraDocumento7 páginasAMAURI Mendes PereiraGustavo FordeAinda não há avaliações
- Museu Histórico Portelense Apontamentos Sobre A Trajetória de Um Acervo de Fontes Orais DoDocumento18 páginasMuseu Histórico Portelense Apontamentos Sobre A Trajetória de Um Acervo de Fontes Orais DoWalter PereiraAinda não há avaliações
- "O Jôgo Da Verdade" - General Emílio Garrastazu MédiciDocumento12 páginas"O Jôgo Da Verdade" - General Emílio Garrastazu MédicifabiomojicaAinda não há avaliações
- Modernismo e A Questão Nacional PDFDocumento4 páginasModernismo e A Questão Nacional PDFAriany Ribeiro AmorimAinda não há avaliações
- RIBEIRO MATIAS. A Universidade Necessária em Darcy Ribeiro PDFDocumento7 páginasRIBEIRO MATIAS. A Universidade Necessária em Darcy Ribeiro PDFLenioAinda não há avaliações
- BORGES, Nilson. A Doutrina de Segurança Nacional e Os Governos Militares. in - O Brasil Republicano - o Tempo Da DitaduraDocumento2 páginasBORGES, Nilson. A Doutrina de Segurança Nacional e Os Governos Militares. in - O Brasil Republicano - o Tempo Da DitaduraxdalmoxAinda não há avaliações
- Estado e Oposição No Brasil ResenhaDocumento5 páginasEstado e Oposição No Brasil ResenhaAmilson Barbosa Henriques100% (1)
- Ideias em Movimento - Angela AlonsoDocumento5 páginasIdeias em Movimento - Angela AlonsoDiego Ferreira50% (2)
- Os Idiotas Da Objetividade, Nelson Rodrigues. JC.Documento2 páginasOs Idiotas Da Objetividade, Nelson Rodrigues. JC.Daniela GomesAinda não há avaliações
- Narrativa Trauma Memoria Mulheres Violencia DomesticaDocumento10 páginasNarrativa Trauma Memoria Mulheres Violencia DomesticaTais de Lacerda Gonçalves MassiereAinda não há avaliações
- RESISTENCIA EM ARQUIVO Memoria e Historia Da DitaduraDocumento155 páginasRESISTENCIA EM ARQUIVO Memoria e Historia Da DitaduraDouglasMotaAinda não há avaliações
- Balanço Historiografico Escravidao BrasilDocumento11 páginasBalanço Historiografico Escravidao BrasilCristiane Kozlowsky NevesAinda não há avaliações
- Franklin de OliveiraDocumento5 páginasFranklin de OliveiraGustavo S. C. MerisioAinda não há avaliações
- O Nome e A Coisa o Populismo Na Política BrasileiraDocumento68 páginasO Nome e A Coisa o Populismo Na Política BrasileiraStefan Gerzoschkowitz100% (1)
- PT Bibliografia 1edDocumento431 páginasPT Bibliografia 1edClaudio DaflonAinda não há avaliações
- Mary Del Priore Violência ContDocumento6 páginasMary Del Priore Violência ContJorge JuniorAinda não há avaliações
- SAFATLE, Vladimir & TELLES, Edson (Org) - O Que Resta Da Ditadura PDFDocumento346 páginasSAFATLE, Vladimir & TELLES, Edson (Org) - O Que Resta Da Ditadura PDFAdriano SousaAinda não há avaliações
- LONER, Beatriz. Negros - Organização e Luta em PelotasDocumento17 páginasLONER, Beatriz. Negros - Organização e Luta em PelotasPierre Chagas100% (1)
- Carlos Fico - Ditadura DocumentadaDocumento12 páginasCarlos Fico - Ditadura DocumentadaEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Da Matta, Roberto - Digressão - A Fábula Das Três RaçasDocumento11 páginasDa Matta, Roberto - Digressão - A Fábula Das Três RaçasBia BiaAinda não há avaliações
- As Cidades Como Novos Locus Dos Conflito PDFDocumento257 páginasAs Cidades Como Novos Locus Dos Conflito PDFJosé Luis ProttiAinda não há avaliações
- A Luta de Libertacao Nacional Na AfricaDocumento17 páginasA Luta de Libertacao Nacional Na AfricaPowerGuido69Ainda não há avaliações
- Wa0012.Documento59 páginasWa0012.Vivian SilvaAinda não há avaliações
- Levitação MagnéticaDocumento8 páginasLevitação MagnéticalorenaAinda não há avaliações
- E D Fisiologia Multipla EscolhaDocumento6 páginasE D Fisiologia Multipla EscolhaMylena CampposAinda não há avaliações
- O Que É A Teoria Da MudançaDocumento5 páginasO Que É A Teoria Da MudançaILPOAinda não há avaliações
- Quem Foi Padre António VieiraDocumento4 páginasQuem Foi Padre António VieiraSergio Monteiro FerreiraAinda não há avaliações
- Antimonium CrudumDocumento2 páginasAntimonium CrudumGilmar CizilioAinda não há avaliações
- RESPOSTAS PET DesenvolvimentoDocumento12 páginasRESPOSTAS PET DesenvolvimentoNadia ValimAinda não há avaliações
- CardiovascularDocumento62 páginasCardiovascularInsed CourseAinda não há avaliações
- Cinco Propósitos Do SofrimentoDocumento4 páginasCinco Propósitos Do SofrimentoHUGO LEONARDO BRANDÃOAinda não há avaliações
- EXULTA-TE Cifrado PDFDocumento6 páginasEXULTA-TE Cifrado PDFReginaAinda não há avaliações
- Anjos CaídosDocumento22 páginasAnjos Caídosdejesusasophia2244Ainda não há avaliações
- Liturgia para A Missa de Primeira EucaristiaDocumento15 páginasLiturgia para A Missa de Primeira EucaristiaJoseElidioAinda não há avaliações
- USS 2017.1 - Prova ObjetivaDocumento36 páginasUSS 2017.1 - Prova ObjetivaVitor HugoAinda não há avaliações
- Resenha 1 - HORTALIÇASDocumento4 páginasResenha 1 - HORTALIÇASmarcelo manausAinda não há avaliações
- EcologiaDocumento5 páginasEcologiaAna Clara Souza FernandesAinda não há avaliações
- Mike Michaele Kunert DepsDocumento1 páginaMike Michaele Kunert DepsLucas MartinsAinda não há avaliações
- Proposta de Treinamento Motivacional Hotel PDFDocumento0 páginaProposta de Treinamento Motivacional Hotel PDFfabaumAinda não há avaliações
- 8ano - 9 - 10 - 11 - Slides - Revoluções Na Inglaterra 2Documento34 páginas8ano - 9 - 10 - 11 - Slides - Revoluções Na Inglaterra 2Iracema Mendonça BeirãoAinda não há avaliações
- CTM Fortaleza CEDocumento156 páginasCTM Fortaleza CEArieh Ibn GabaiAinda não há avaliações
- TCC Bruna Rodigues Da SilvaDocumento63 páginasTCC Bruna Rodigues Da SilvaMônica Dias Mello0% (1)
- 2.1 Educar e CuidarDocumento23 páginas2.1 Educar e CuidarDavi DiasAinda não há avaliações