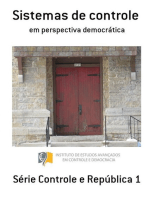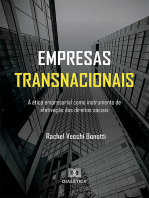Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Teoria Política Contemporânea: Política E Economia Segundo Os Argumentos Elitistas, Pluralistas E Marxistas
Teoria Política Contemporânea: Política E Economia Segundo Os Argumentos Elitistas, Pluralistas E Marxistas
Enviado por
jose mesquitaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Teoria Política Contemporânea: Política E Economia Segundo Os Argumentos Elitistas, Pluralistas E Marxistas
Teoria Política Contemporânea: Política E Economia Segundo Os Argumentos Elitistas, Pluralistas E Marxistas
Enviado por
jose mesquitaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Captulo 13
TEORIA POLTICA CONTEMPORNEA:
POLTICA E ECONOMIA
SEGUNDO OS ARGUMENTOS
ELITISTAS, PLURALISTAS E MARXISTAS
Carlos Pio
Mauro Porto
O PROBLEMA1
Neste artigo, pretendemos enfocar algumas questes que esto
intrinsecamente associadas ao campo de estudo definido pelo rtulo
de teoria poltica contempornea TPC. Delimitaremos com clareza o
perodo coberto pela TPC, assim como apresentaremos, sucintamente, as principais divergncias que envolvem suas trs correntes
fundamentais: o elitismo, o marxismo e o pluralismo. Escolhemos,
como questo central, a anlise da relao entre os sistemas poltico e
econmico, mais especificamente, de como os diferentes autores
interpretam as afinidades e as incompatibilidades entre a
democracia-representativa e a economia de mercado.
Optamos por esse enfoque porque, em contraposio aos tericos modernos, a relao entre democracia e sociedade particularmente suas relaes econmicas constituiu um dos aspectos
centrais dos debates dos autores contemporneos. A defesa das liberdades no manejo dos negcios privados ocorreu concomitante
com a prpria formao do Estado moderno. No , pois, produtivo dissociar os processos de liberalizao poltica e econmica, vis-
1 Devido aos propsitos meramente expositivos, no ocuparemos o leitor com
referncias bibliogrficas e citaes, como se requer de um bom trabalho
acadmico. No entanto, no ser preciso muito requinte para que se perceba
que tratamos, aqui, simplesmente de reproduzir de maneira organizada as
idias de diversos autores bastante conhecidos no campo da cincia poltica e
da sociologia.
Carlos Pio & Mauro Porto
Elitistas, pluralistas e marxistas
to que ambos derivam do princpio de "no taxation without
representation", que se encontra na origem da idia de que o Estado
deve responder s demandas da sociedade e a ela prestar contas.
Tais vnculos entre o desenvolvimento do mercado e a formao do
Estado moderno e da democracia representativa constituram um
dos temas fundamentais do debate contemporneo, como veremos
a seguir.
tanto, fundamentais para definir os interesses a serem considerados
e que disporo de capacidade de influncia no processo decisrio.
A despeito da centralidade das decises pblicas, alguns aspectos da relao entre Estado e sociedade constrangem a natureza de
sua dominao. Em primeiro lugar, e como j foi dito, os ocupantes
dos postos de comando do Estado moderno, assim como os integrantes de sua estrutura administrativa, esto submetidos ao conjunto de regulaes que o prprio Estado estabelece. Isso protege
os cidados indivduos e grupos do uso indevido dos recursos de poder e dos meios materiais controlados pelos decisores.
Em segundo lugar, como o Estado depende de contribuies
materiais dos cidados para financiar os seus gastos os meios
materiais de gesto , obriga-se a estabelecer mecanismos de estmulo acumulao privada de riquezas, para, posteriormente, poder tax-las.3 Mesmo alguns autores de orientao marxista reconhecem nos mecanismos de mercado a forma mais eficiente para
promover tais estmulos, ainda que ressaltem a necessidade de regulamentaes pblicas para contrabalanar as desigualdades geradas
pelo mercado.
Contudo, se a limitao dos poderes do Estado parece ser essencial para sua prpria existncia de outro modo, correramos o risco de perda de legitimidade das decises , surge um grave paradoxo
para a definio das interaes entre os processos polticos e econmicos que ocorreu no mbito do Estado capitalista democrtico
contemporneo. Enquanto a necessidade de obedincia s regras
deixa evidente a importncia da democratizao dos processos de
gesto dos assuntos pblicos o estabelecimento de mecanismos
representativos , a necessidade de promover estmulos apropriao privada da riqueza social vir a constituir um entrave ao ideal
Portanto, o que estar em discusso so os prprios fundamentos do Estado moderno, cuja principal caracterstica a natureza,
dita "racional-legal", da dominao que impe aos habitantes de um
determinado territrio. Por dominao racional-legal entenda-se que
aqueles que obedecem s decises pblicas do Estado o fazem por considerar que, estando tais decises submetidas s normas aceitas por todos, realizam seus interesses essenciais enquanto
membros da sociedade.
Sumariamente, o Estado moderno pode ser assim caracterizado:
monopoliza o uso legtimo da fora em um dado territrio; a partir
desse recurso fundamental de poder, toma decises que requerem
obedincia por parte de todos os habitantes do territrio; constitudo por postos de comando e por uma estrutura administrativa,
que so ocupados por membros da prpria sociedade; dispe de
meios materiais que asseguram a gesto dos assuntos pblicos; estabelece um conjunto de regulaes da vida social, ao qual os prprios
ocupantes dos postos de comando e da estrutura administrativa esto
submetidos; estabelece os instrumentos de acesso dos membros da
sociedade aos postos de comando e estrutura administrativa, assim
como dos interesses de indivduos e grupos sociais ao processo de
deciso pblica.2
Portanto, o Estado toma decises para o conjunto da sociedade
e dispe dos meios para torn-las imperativas a todos. Por essa razo, o Estado, ou melhor, sua estrutura de comando, foco de intensa disputa entre os diversos interesses que possam ser afetados
pelas decises pblicas. As regras de acesso a tais postos so, por2
O conceito de Estado moderno e de dominao poltica , obviamente, derivado
de Max Weber.
292
3 Aparentemente, esse no parece ser um constrangimento aos Estados socialistas, posto que as prprias regulaes impedem taxas de acumulao privada
muito elevadas. No entanto, em um mundo em que a propriedade privada dos
meios de produo encontra-se extinta, o Estado mantm-se obrigado a promover estmulos ao trabalho por parte dos cidados, agora impedidos de acumular individualmente.
293
Carlos Pio & Mauro Porto
de igualdade poltica, posto que alguns indivduos e grupos acumularo mais recursos que outros, tornando desiguais suas capacidades para influenciar nas decises pblicas.
Dessa forma, o dilema presente forma de atuao dos estados
capitalistas e democrticos, ou seja que visam realizar as liberdades
econmicas e polticas, aponta para as incompatibilidades presentes
entre os dos sistemas: enquanto o mercado econmico realiza a desigualdade material, a democracia assenta-se na idia de que os indivduos dispem de igual capacidade para fazer valerem os seus interesses.
ELITISMO
Para Pareto, toda sociedade humana estar sempre dividida em
uma elite e uma "no-elite". A elite composta por todos os indivduos que apresentarem o maior grau de capacidade, qualquer que
seja o seu ramo de atividade. Os mais capacitados advogados, empresrios, mdicos, ladres etc. sero, pois, membros natos da elite.
Os demais compem a no-elite. Por sua vez, a elite dividida em
"elite governante" composta por todos aqueles que influenciam
as decises do governo, direta ou indiretamente e "elite nogovernante".
Do ponto de vista da manuteno do equilbrio social ou seja,
da estabilidade da dominao poltica vigente , Pareto afirma que
o essencial que os membros da elite governante sejam aqueles que,
alm de serem membros natos da elite qualidades superiores ,
possuam caractersticas de personalidade adequadas para exercer o
poder resduos.
Existem, no entanto, dois problemas bsicos relativo ao equilbrio social. O primeiro problema que a elite governante tambm
composta por todos os indivduos que so, formal ou informalmente, agregados aos membros natos a despeito de disporem ou
no das qualidades necessrias ao exerccio efetivo do poder poltico. Com o passar do tempo, os elementos agregados elite governante passam a representar uma ameaa estabilidade da ordem,
medida em que assumem os postos de comando sem disporem das
qualidades requeridas para exerc-los. Esse tipo de "desvio" ter294
Elitistas, pluralistas e marxistas
mo utilizado por Pareto deve-se ao fato de que, na elite, alguns
rtulos ou so hereditrios ou podem ser derivados da riqueza, da
famlia e dos contatos sociais mantidos por um determinado indivduo.
O segundo problema que determina as condies de estabilidade da dominao da elite governante derivado da eficincia do
processo de "circulao de classes". Dadas as tendncias naturais
reduo das qualidades dos membros da elite governante, Pareto
chama a ateno para o processo por meio do qual membros da
elite governante so substitudos por indivduos ou classes recm
sados(as) da elite no-governante e da no-elite e que lhe renovam
as qualidades necessrias ao contnuo exerccio da dominao. De
outro modo, tais indivduos com qualidades superiores e resduos
adequados ao exerccio do poder se acumulariam nas classes inferiores elite no-governante ou no-elite e poderiam liderar movimentos revolucionrios contra a elite governante.
Para Mosca, a composio da elite poltica deriva do fato de que
seus membros so aqueles que "possuem um atributo altamente
valorizado e de muita influncia na sociedade em que vivem"
isto , possuem "qualidades que conferem certa superioridade material, intelectual e mesmo moral; ou so herdeiros de indivduos
que possuam tais qualidades". A elite , pois, uma minoria com
interesses homogneos e, devido a essa homogeneidade, de fcil
organizao. justamente essa organizao que explica sua capacidade de domnio sobre a massa.
Em cada sociedade e em cada estgio da civilizao, a posse de
determinado atributo fundamental para determinar aqueles que
exercero o poder, ou melhor, que tero capacidade de influncia
poltica. A fora fsica, que determina a preponderncia dos que
controlam o poderio militar; a renda auferida pela explorao da
terra, que estabelece o domnio dos proprietrios da riqueza; a crena religiosa, que implica na centralidade da aristocracia clerical; o
conhecimento especializado e a cultura cientfica, que fundamentam o domnio dos sbios. Essas determinaes so exemplos de
atributos altamente valorizados e capazes de tornar muito influentes politicamente aqueles que os detm. Os guerreiros, os sbios, os
295
Carlos Pio & Mauro Porto
proprietrios de riquezas materiais, os sacerdotes, entre outros, representam justamente o grupo que se apropria do atributo de poder
essencial em cada sociedade, em um dado estgio civilizatrio.
Como todas as sociedades encontram-se em eterno processo de
transformao, tais atributos tambm mudam com o tempo e foram as elite polticas a uma constante adaptao. Essa mutao da
elite pode se dar de maneira abrupta por meio de sua substituio completa ou gradual, via incorporao de elementos representativos de novos valores.
Assim como exposto acima, e a despeito de suas diferenas, tanto Pareto como Mosca prevem a vigncia de processos de renovao da elite dirigente. A estabilidade da ordem depende, portanto,
da efetividade dos mecanismos de cooptao para promover a constante renovao da elite, de maneira a renovar sua capacidade de
domnio. Para ambos, na eventualidade de substituio da elite governante, ou elite poltica, no a massa que ascende, mas o grupo
que foi capaz de mobiliz-la, uma nova elite.
No incio deste sculo, o socilogo Robert Michels realizou o
primeiro estudo sistemtico que se prope a comprovar a "Lei de
Ferro da Oligarquia". Mediante o estudo dos processos polticos
internos ao Partido Social Democrata alemo, Michels procura explicar tanto a dependncia poltica das massas em relao s lideranas
do partido, como as razes que fazem com que alguns indivduos
ascendam s posies de comando na estrutura partidria. Em
linguagem mais contempornea, possvel dizer que os lderes resolvem os problemas de ao coletiva do partido, ou seja, pagam a
maior parte dos custos para a obteno dos bens coletivos que o
partido prove e, por essa razo, so valorizados e mesmo considerados
como imprescindveis pelas massas. Os lderes sacrificam seu tempo
e seus recursos pessoais para "fazerem o partido funcionar". No
entanto, os lderes quase sempre distanciam-se das massas em razo
de suas capacidades mais aguadas e dos conhecimentos privilegiados
de que dispem. O fato de pagarem os custos de ao coletiva que
fazem o partido existir sem o forte engajamento das massas tambm
d-lhes maior capacidade de influncia nas decises do partido. Ao
final, essa maior influncia dos lderes acaba
296
Elitistas, pluralistas e marxistas
por distanciar o partido das massas, o que, em si, representa a falncia da idia de democracia interna. A concluso de Michels que, se
nem os partidos polticos que advogam a plena democratizao da
sociedade conseguem organizar-se internamente de maneira democrtica, seu objetivo de transformao radical da sociedade irrealizvel. A democracia , pois, uma utopia irrealizvel.
O resumo acima foi propositadamente superficial. Nosso objetivo, nesta exposio apressada do argumento elitista, apenas abrir
espao para a afirmao que se segue. Os autores elitistas procuraram demonstrar que a democracia invivel, baseados na idia de
que qualquer sociedade ser governada por poucos. A comprovao desse fato, lgica e empiricamente, torna irrealizvel a crena no
"autogoverno das massas".
Para os elitistas, portanto, assim como para todo o pensamento
derivado da construo rousseauniana at mesmo o marxista ,
democracia sinnimo de "governo de todos". No se aceita a idia
de "representao da vontade", ao mesmo tempo em que se acredita
que no h uma vontade a ser realizada, pois h conflito de interesses nas sociedades.
Por outro lado, est presente em Mosca a noo de que, sendo a
sociedade capitalista caracterizada pela proteo legal da riqueza acumulada por intermdio das interaes econmicas, o recurso de poder essencial dessas sociedades derivado da posio econmica
dos indivduos. Quanto mais ricos, mais influentes politicamente.
Segundo Tom Bottmore, Mosca aproxima-se assim incomodamente do argumento marxista que, como veremos adiante, salienta a
transposio da desigualdade econmica que resulta das interaes
de mercado para a arena poltica. [SIC: Bottomore]
O mesmo tipo de associao entre desigualdade econmica e
desigualdade poltica est presente em C. Wright Mills. Aps minuciosa anlise da sociedade norte-americana, Mills chega concluso
que a elite do poder composta pelos ocupantes dos principais cargos nas hierarquias militar, administrativa do Estado e empresarial.
Para esse autor, nas sociedades capitalistas democrticas, essas seriam as principais estruturas de poder, cujas decises afetam as vidas da maioria da populao. Ademais, os ocupantes dos postos de
297
Carlos Pio -Mauro Porto
comando nessas trs hierarquias fariam parte de uma mesma classe
social, compartilhando valores e lealdades que tornam integrada a
administrao da sociedade. Portanto, essas hierarquias estariam interligadas tanto em razo da natureza interdependente das decises
tomadas em cada uma delas, que obrigaria consultas mtuas e favoreceria a obteno de compromissos, como pelas conexes pessoais
que se constituam entre os ocupantes das posies de comando.
Em suma, o argumento elitista aplicado s sociedades democrticas em economias de mercado aponta para uma concentrao do
poder poltico no topo das estruturas poltica, social e econmica.
O ideal democrtico Rousseauniano de autogoverno das massas , pois, descartado como utpico. Isso no significa dizer que,
de maneira geral, o modelo elitista supe dominaes polticas estveis. Ao contrrio, a elite no poder ser tanto menos estvel quanto
menos disposta a e/ou capaz de adaptar-se s transformaes em curso na sociedade. Portanto, um modelo dinmico e que
prev a possibilidade de profundos reordenamentos no aparato decisrio estatal.
Elitistas, pluralistas e marxistas
QUADRO 1
Filiao de indivduos () de uma mesma sociedade (S), a
diferentes grupos (A), (B), (C)
PLURALISMO
Vejamos agora o argumento pluralista e algumas crticas que lhe
so contrapostas. Robert Dahl, o principal expoente do argumento
pluralista anti-elitista , aponta para algumas dimenses da estrutura de poder da sociedade norte-americana para questionar a
noo, presente no elitismo, de que todo o poder est concentrado
nas mos de poucos atores polticos, dado por seu lugar na estrutura
scio-econmica. H dois pontos-chaves na crtica Dahlsiana.
Em primeiro lugar, h um problema metodolgico com o argumento elitista: para que se possa aceitar como verdadeira a existncia de uma "elite dirigente" em um dado pas, necessrio que se
demonstre como esse grupo efetivamente exerce a sua dominao
poltica. , no entanto, indispensvel que esse seja um grupo coeso
e identificvel, que atue em unssono e que seja vitorioso em todas as
questes nas quais se envolver. Ainda sobre esse grupo, Dahl aponta
para a necessidade de que sua composio derive de interesses
reais compartilhados, ou seja, que no seja mero resultado do fun298
QUADRO 2
Distribuio de indivduos (), membros de uma mesma
sociedade (S), de acordo com as questes que so objeto de
deciso pblica (A), (B), (C), (D)
D
299
Carlos Pio & Mauro Porto
cionamento das regras democrticas. Quanto s decises tomadas,
elas precisam ser objeto de conflito com os demais grupos da sociedade, para que se comprove o real exerccio de poder por parte da
elite.
Em segundo lugar, o pluralismo inova, em relao ao elitismo,
ao apresentar a idia de que os grupos sociais so levados a buscar
influenciar os decisores na medida em que os interesses fundamentais de seus membros estiverem sendo potencialmente ameaados
por decises pblicas. Os grupos agiriam, assim, em nome dos interesses compartilhados por seus membros. Mas, como os grupos
so compostos por indivduos autnomos, seria preciso entender
os condicionantes da ao poltica individual para uma melhor compreenso das interaes polticas.
Diversos autores pluralistas exploraram os condicionantes da ao
individual. O modelo bsico que se pode derivar de suas anlises
aponta para um indivduo:
1. com potencial de filiao simultnea a mltiplos grupos ver
Quadro l , em razo da vasta gama de interesses que possui
ver Quadro 2; e,
2. desinteressado politicamente, exceto quando seu interesse ime
diato est em questo.4
No Quadro l, os indivduos situados nas intersees dos grupos,
(espaos AB, AC, BC e ABC) so "multifiliados", ou seja, per- 11
tencem a mais de um grupo ao mesmo tempo. Os membros de um
*!
nico grupo so membros em potencial de outros grupos, assim como
aqueles que esto fora dos trs grupos acima representados. No h,
pois, no modelo pluralista, clivagens profundas na estrutura da sociedade
que inviabilize as multifiliaes. No entanto, para que um sistema
baseado na idia de multifiliaes fosse plenamente possvel, essas
sociedades precisariam caracterizar-se por uma profunda homogeneidade
cultural.
Por outro lado, o Quadro 2 demonstra como a doutrina pluralista
percebe a volatilidade na composio dos grupos. De acordo com
Os dois quadros expostos foram apresentados por Hellen Milner.
300
Elitistas, pluralistas e marxistas
as questes colocadas na agenda pblica, os indivduos agrupam-se
em diferentes coalizes, contra e a favor. possvel adicionar a esse
segundo modelo, um corte eminentemente de grupos, por intermdio do qual se poderiam prever alianas entre diferentes grupos, de
acordo com a questo. Assim sendo, teoricamente, poder-se-ia imaginar que os grupos
1. se mantivessem coesos em todas as questes, caso do "grupo M"
o que poderia indicar, de certo modo, a existncia de uma clivagem profunda na sociedade, distanciando esse tipo de grupo do
suposto no modelo pluralista;
2. que se mantivessem relativamente coesos, como o "grupo N"; ou
3. que tivessem nveis baixos de coeso, como o "grupo O", que se
divide em praticamente todas as questes.
Desse modelo de indivduo, possvel sustentar que uma das
caractersticas bsicas dos sistemas polticos pluralistas a intensidade moderada das interaes polticas que nele se processam, devido
inexistncia de desigualdades cumulativas, ou seja, de ganhadores e
perdedores universais. No se acumulariam desigualdades porque os
indivduos seriam membros de mais de um grupo de interesse ao
mesmo tempo, o que implica em que a perda em uma determinada
questo "A" pode ser compensada, no apenas com uma vitria na
questo "B", mas tambm pela reverso da derrota na questo "A"
em uma interao futura. Todo cidado um potencial aliado e um
potencial adversrio de qualquer outro, de acordo com a natureza
da questo poltica em disputa. Os grupos de interesse so, portanto,
mutveis em sua constituio e poder poltico e essa volatilidade
na sua constituio que torna os resultados a um s tempo incertos
e reversveis. A ordem contingente e as interaes assemelham-se
a um jogo.
Deriva-se do argumento pluralista que preciso assegurar regras
justas de interao poltica, para que se mantenha a disposio dos
eventuais perdedores a continuar jogando. Para tanto, tais regras
precisam maximizar os ideais de igualdade poltica e soberania popular, ou seja,
1. estabelecer capacidades semelhantes de influncia poltica para
todos; e,
301
Carlos Pio 1 Mauro Porto
2. vincular as decises pblicas vontade da maioria.
Segundo os principais defensores dessa corrente aqui includos Schumpeter, Dahl e Lindblom , tais regras precisariam estabelecer interaes competitivas eleies entre os cidados para
a constituio dos governos, isto , para a ocupao dos postos de
comando do Estado.
Os ganhadores das eleies constituem os governos e tomam
decises pblicas, respeitadas as regras que asseguram os direitos de
oposio. A noo de governo representativo , pois, parte essencial
do modelo. No entanto, os problemas comumente associados representao poltica seriam minimizados pelo carter competitivo
do sistema, visto que quanto mais acentuado o grau de competio
pelos postos de comando, maiores os constrangimentos que foram os representantes atendam s demandas dos representados.
Ao conjunto de regras que realizem tais princpios, os pluralistas
do o nome de poliarquia e elas incluem: liberdade de expresso de
interesses, de organizao poltica, de voto, de informao, liberdade
para concorrer e ser eleito para cargos pblicos, direito a eleies livres
e competitivas, e existncia de instituies que tornem as polticas
governamentais dependentes do interesse da maioria do eleitorado.5
Em sua essncia, as regras da poliarquia objetivam assegurar direitos de
contestao pblica, isto , de oposio a todos aqueles que so
afetados pelas decises do governo, ou seja, todos os cidados.
Como j foi observado, esse modelo baseia-se no fato de que o
poder poltico dos cidados no deriva apenas de sua posio nas
estruturas social e econmica. Pelo contrrio, em sua formulao
inicial, o pluralismo supe que a capacidade de convencimento
dos candidatos aos cargos pblicos o recurso essencial ao exerccio
de poder. Tero maior capacidade de realizar seus interesses aqueles
que forem capazes de convencer a maioria da populao da validade
de suas propostas em relao s de seus concorrentes. Disso deriva
Elitistas, pluralistas e marxistas
o papel angular da liderana poltica, dos polticos profissionais, que
se especializam na articulao das preferncias individuais em uma
vontade coletiva e na mobilizao de contingentes eleitorais dispersos e pouco interessados.
Porm, da crena inicial de que o poder econmico no se traduziria automaticamente em poder poltico, e de que a poliarquia no
estaria submetida s determinaes dos grupos j privilegiados nas
interaes econmicas, alguns autores pluralistas evoluram para uma
autocrtica do modelo. Diante disso, seriam necessrias reformas
estruturais para evitar a sobredeterminao das decises polticas
pelo sistema econmico. Os governos democrticos, segundo as
prprias anlises de Dahl e Lindblom,6 precisariam controlar a capacidade de influncia dos interesses do empresariado, que desfrutaria, segundo o termo cunhado por Lindblom, de uma posio privilegiada nas sociedades capitalistas democrticas. Ou seja, algum
poder econmico estaria traduzido em poder poltico, e isso precisa
ser evitado por meio da interveno deliberada do Estado.
Diversas crticas foram feitas ao argumento pluralista. Para fins analticos, separamos as crticas metodologia das crticas ao paradigma.
So duas as principais crticas metodolgicas ao pluralismo. A
primeira, formulada por Theodore Lowi, em 1964, aponta para a
no-refutabilidade emprica do pluralismo como deficincia que
deriva de seus pressupostos normativos. De acordo com Lowi, como
os tericos pluralistas supem que so os grupos os atores fundamentais dos processos polticos, suas anlises empricas so dirigidas para as questes que provocam a mobilizao poltica de grupos, o que, por sua vez, confirma as previses iniciais de que os
grupos so os atores fundamentais.
A segunda crtica metodolgica ao pluralismo foi formulada por
Bacharach e Baratz. Esses autores salientam que, antes de questionar como se exerce o poder poltico nas sociedades democrticas,
6
Cf. R. Dahl, Poliarchy participation and opposition, New Haven/Londres, Yale
University Press, 1970, p. 3,
302
Cf. Dahl. Dilemmas of pluralist democracy, autonomy and control, New Haven e
Londres, Yale University Press, 1982; e Charles Lindblom, Politics and
markets, Nova York, Basic Books, 1977.
303
Carlos Pio & Mauro Porto
preciso identificar os grupos beneficiados pelas estruturas vigentes
social, poltica e econmica , isto , pelo status quo. Isso porque os
beneficirios da estrutura de poder vigente dispem de instrumentos
para evitar que algumas questes prejudiciais aos seus interesses
tornem-se objeto de deliberao pblica. Os pluralistas, ao passarem ao
largo dessa face "oculta" do poder, identificariam apenas as formas
superficiais de seu exerccio, mas no aquelas subliminares e que implicam o verdadeiro domnio da agenda pblica as "no-decises".
Entre as crticas ao paradigma pluralista, gostaramos de
ressaltar aquelas formuladas por Lowi, por Schmitter e por Lijpart.
Lowi aponta para interaes no mbito do sistema poltico norteamericano que no obedecem aos postulados da teoria
pluralista. Segundo seu principal argumento, as interaes polticas
so determinadas pelo comportamento dos atores envolvidos e
esse comportamento deriva da natureza das polticas pblicas em
questo. Portanto, a cada tipo de poltica distributivas,
redistributivas e regulatrias, segundo sua tipologia ,
corresponderia um padro distinto de comportamento poltico. O
padro de comportamento previsto pelos pluralistas seria, de acordo
com Lowi, caracterstico apenas das interaes que se produzem em
torno de polticas regulatrias. Nas demais, os atores polticos agiriam
de maneira atomizada distributivas ou seguindo os
determinantes de classe redistributivas.
Phillippe Schmitter chama a ateno para a interdependncia entre o
tipo de estrutura poltica de um dado pas e seu estgio de desenvolvimento econmico capitalista. Segundo seu argumento, o pluralismo no uma forma de estruturao das interaes polticas
capaz de durar para sempre: o prprio funcionamento das economias
avanadas gera necessidades e imperativos polticos que implicam em
uma maior proximidade entre os interesses pblicos e privados,
mesmo em sistemas polticos originalmente pluralistas. O modelo
corporativo , nessa perspectiva, resultante da prpria evoluo do
capitalismo democrtico.
Por fim no ltimo exemplo de crtica ao pluralismo antes da
anlise do argumento marxista , Arendt Lijphart identifica sistemas polticos democrticos estveis em sociedades caracterizadas
304
Elitistas, pluralistas e marxistas
pela existncia de clivagens sociais importantes. Pases notavelmente
democrticos como ustria, Sua e Holanda, entre outros, seriam
caracterizados por divises sociais profundas, que tornam os
cidados primordialmente vinculados a grupos e no nao. A
existncia de democracias estveis em naes socialmente divididas,
por si s, contraria os pressupostos pluralistas, segundo os quais a
estabilidade de regimes democrticos dependeria:
1. de uma base cultural homognea, para assegurar, a um s tempo,
tanto a manuteno das lealdades primrias dos cidados para com
o Estado e no a um grupo social qualquer como um padro
associativo baseado em multifiliaes individuais; e
2. de uma estrutura autnoma de papis sociais para promover a
disperso das identidades coletivas e reforar comportamentos polticos moderados.7 Como explicao para essa "anomalia", Lijphart
apresenta um modelo de interao poltica fundado no na competio, mas antes na cooperao entre as elites que representam cada
uma das clivagens. Desse modo, o sistema poltico consociacional
capaz de atender aos interesses de grupos polticos e sociais com
interesses distintos e mesmo contraditrios, e garantir tanto o respeito a valores e direitos democrticos, como a paz social.
Um bom exemplo dessa estrutura de papis sociais o sistema
educacional. Se os membros de diferentes grupos forem "educados" a partir
dos valores presentes em um sistema educacional homogneo, maiores as
chances de que se desenvolvam interaes polticas moderadas, No caso
contrrio, isto , se cada grupo social tiver o direito de estabelecer os valores
que orientaram o sistema educacional ao qual sero orientadas as novas
geraes, maiores as chances de que se reforcem as diferenas e que as
interaes polticas se desenvolvam sob hostilidade e desconfiana entre os
membros de diferentes grupos. O mesmo tipo de raciocnio pode aplicar-se
a outras estruturas de papis sociais como a imprensa, os partidos polticos,
e os grupos de interesse.
305
Carlos Pio & Mauro Porto
A CRTICA MARXISTA
Assim, os prprios autores pluralistas passaram a reconhecer que
as desigualdades produzidas pelas interaes de mercado afetam a
distribuio de recursos polticos entre os cidados e, por conseguinte, minam as bases sobre as quais se assentam os valores de
igualdade poltica e soberania popular. Cria-se ento a possibilidade
de que as regras e instituies da poliarquia no sejam capazes de
exercer convenientemente a funo de regular a vida social de acordo com a vontade expressa pela maioria da populao. Isso sendo
verdade, decises pblicas seriam tomadas sem o devido controle
por parte daqueles que a obedecero, em uma possvel violao dos
pilares racionais-legais da dominao poltica.
Segundo a abordagem marxista clssica tal como formulada
por Karl Marx e Friedrich Engels no sculo XIX , o poder poltico
est concentrado nas mos daqueles que detm posies dominantes
na economia capitalista. Como afirma o Manifesto comunista, a
centralizao da produo pela burguesia correspondeu a uma centralizao da poltica, na qual o poder poltico do Estado nada mais
do que o poder organizado de uma classe a burguesia para a
opresso de outra o proletariado. Marx e Engels ressaltam assim o
carter coercitivo e parcial da dominao do Estado, questionando a
possibilidade de realizao legtima da vontade popular com a
permanncia da economia de mercado. A teoria comunista clssica
pressupe, portanto, a abolio da propriedade privada como condio necessria realizao de qualquer princpio democrtico. Os
escritos de Marx e Engels tambm sugerem que a base material da
sociedade as relaes de produo e as foras produtivas determina, "em ltima instncia", a superestrutura as relaes polticas, jurdicas, ideolgicas etc.8
Posteriormente, Marx e Engels apresentaram diversas qualificaes a essa formulao de que a base econmica determina toda a superestrutura poltica e
cultural de uma sociedade. Por exemplo, em carta a Joseph Bloch, em 1890,
Engels afirma que a interpretao de suas idias e as de Marx segundo a
qual o elemento econmico o nico fator determinante uma interpretao abstrata e sem sentido. Engels afirma ainda que vrios elementos da
306
Elitistas, pluralistas e marxistas
J neste sculo, autores marxistas desenvolveram interpretaes
distintas, muitas vezes antagnicas, sobre as formulaes da teoria
marxista clssica. De um lado, desenvolveu-se o marxismo-leninismo,
principalmente a partir da Revoluo Russa de 1917, mantendo a
nfase de Marx no carter coercitivo da dominao do Estado e a
incompatibilidade entre democracia e economia de mercado. Essa
interpretao mais "ortodoxa" do marxismo clssico ser a base do
movimento comunista, tal como institucionalizado na III Internacional, sob forte influncia dos soviticos. De outro lado, diferentes
vertentes constituram o que se convencionou chamar de "marxismo ocidental", desenvolvido por autores que, a partir das experincias dos pases capitalistas mais desenvolvidos, ultrapassaram a nfase inicial nos fatores econmicos para ressaltar a autonomia e o
papel de elementos superestruturais, como a poltica e o Estado.
Na constituio do marxismo ocidental, o terico marxista italiano Antnio Gramsci uma das referncias mais importantes. Ao
questionar as razes que levaram ao fracasso a revoluo socialista
na Europa ocidental, Gramsci conclui que a derrota dos trabalhadores deveu-se adoo de uma estratgia poltica equivocada, pois
sociedades "orientais", como a Rssia do incio do sculo, seriam
distintas das sociedades "ocidentais", como a Itlia e demais pases
capitalistas avanados da Europa. Tal distino no uma mera diviso geogrfica, mas indica diferentes tipos de formao econmica
e social, em funo, sobretudo, do peso da sociedade civil, entendida
como o conjunto dos "aparelhos privados de hegemonia" isto ,
os partidos, os sindicatos, as escolas, a mdia, enfim, as organizaes
ditas privadas que no fazem parte do aparelho estatal. Segundo
Gramsci, em sociedades menos complexas, a luta pelo poder desenvolve-se em torno do aparelho do Estado o Estado restrito ,
enquanto que em sociedades ocidentais o fundamental passa a ser a
disputa pela hegemonia na sociedade civil. Portanto, em lugar da
estratgia de "guerra de movimento", tpica de sociedades orientais,
superestrutura exercem uma influncia muitas vezes determinante para o resultado das lutas histricas.
307
Carlos Pio & Mauro Porto
onde os movimentos polticos concentram todas suas foras para
conquistar um objetivo a administrao do Estado , a estratgia poltica correta no ocidente deveria ser a "guerra de posies", a
disputa de posies na "robusta cadeia de fortalezas e casamatas"
da sociedade civil.
Gramsci amplia o conceito de Estado para alm da esfera da
coero da sociedade poltica burocracia administrativa, exrcito,
polcia, tribunais , incorporando tambm a esfera da direo na
sociedade civil a hegemonia cultural e poltica. Em contraposio a algumas formulaes do marxismo clssico e do marxismoleninismo, Gramsci ressalta no s a autonomia da poltica e do
Estado com relao base material, mas tambm sua capacidade de
superar o elemento econmico. Ao combater posies "economicistas", o autor italiano afirma que a pretenso de apresentar qualquer flutuao da poltica como uma expresso imediata da base
econmica deve ser combatida teoricamente como um "infantilismo primitivo".
Adam Przeworski define o marxismo como uma anlise das conseqncias das formas de propriedade para os processos histricos.
Portanto, os marxistas ressaltam como a base material afeta o resultado das lutas polticas, enfatizando, em particular, como as desigualdades geradas pelo mercado determinam a distribuio de poder. Todavia, a relao entre os sistemas poltico e econmico definida de vrias maneiras por diferentes autores marxistas. Como
vimos, o que caracteriza o marxismo ocidental a nfase na autonomia e no papel de elementos superestruturais, como a poltica e o
Estado. Apesar dessa nfase, os autores marxistas mantm a noo
de que as formas de propriedade economia tm um impacto
direto na constituio da democracia representativa e do Estado
poltica.
Um dos debates principais da teoria marxista contempornea
refere-se a este problema bsico: como reconhecer a autonomia do
Estado e da poltica e ao mesmo tempo manter o pressuposto de
que a base econmica e material "determina" a distribuio de poder na sociedade? Mais especificamente: como compatibilizar a autonomia das regras e instituies da democracia representativa e a
308
Elitistas, pluralistas e marxistas
nfase no poder da classe economicamente dominante? Como "domina
a classe dominante" em regimes pluralistas e democrticos?
Nicos Poulantzas procurou construir uma teoria marxista do
Estado capitalista que, a partir das relaes de produo, explicasse
como ele assume suas diferentes formas nos pases capitalistas avanados por exemplo, as diferenas entre Estados autoritrios e
Estados democrticos parlamentares. Segundo Poulantzas, o Estado
tem um papel de "organizao": representa e organiza as classes
dominantes, principalmente o interesse poltico, a longo prazo no
mbito do "bloco no poder". Esse papel s possvel porque o
Estado detm uma "autonomia relativa" em relao a tal ou qual
frao deste bloco. Poulantzas argumenta que a poltica do Estado
resultado das contradies de classe inseridas em sua prpria estrutura.
Assim, apesar de reconhecer a autonomia relativa do Estado sua
independncia em relao a fraes especficas da classe economicamente dominante , Poulantzas argumenta que o Estado
organiza e defende os interesses dessa classe como um todo.
Ralph Miliband tambm buscou compreender as diferentes relaes
entre poltica e economia, nos marcos do Estado capitalista.
Recorreu a um referencial terico considerado oposto ao marxismo, a teoria das elites, definindo a elite estatal como o conjunto [de]
pessoas que ocupam as posies dirigentes em cada uma das instituies que compem o sistema estatal. Para explicar a relao entre
Estado e classe economicamente dominante, o autor afirma que os
membros da elite estatal so os "agentes" do poder econmico privado, ou seja, da classe dominante. Apesar de a participao dos
empresrios nas instituies do sistema estatal ser minoritria, eles
conseguem fazer com que a poltica do Estado os favorea porque a
elite estatal age de acordo com seus interesses, de acordo com sua
composio social seus membros pertencem geralmente s classes mdias e altas e com as relaes de parentesco e amizade. A
classe dominante governaria por meio da elite estatal.
Poulantzas e Miliband desencadearam um dos debates mais importantes na teoria marxista contempornea. Ao polemizar nas pginas da New Left Review, os autores discutiram algumas de suas desavenas: Poulantzas ataca a nfase de Miliband nas "relaes inter-
309
Carlos Pio & Mauro Porto
pessoais" entre os indivduos que integram o aparelho do Estado;
Miliband responde criticando o "superdeterminismo estrutural" de
Poulantzas, ou seja, a idia de que relaes objetivas do sistema estatal definem sua atuao, ignorando-se o papel dos indivduos que
ocupam posies administrativas.
Do debate, possvel distinguir, para fins analticos, as correntes
de pensamento marxista contemporneas que ressaltam as estruturas econmicas, polticas e sociais as abordagens "macro" e
as que ressaltam as relaes e comportamentos dos indivduos
os "micro-fundamentos". Mais recentemente, o autor alemo Claus
Offe desenvolveu uma nova abordagem macro, de cunho estruturalista, concebendo o Estado como mediador das crises capitalistas
geradas pela contradio bsica entre a crescente socializao da
produo e a continuidade da apropriao privada. Segundo Offe,
as funes do Estado surgem a partir do problema de como reconciliar acumulao econmica e legitimao poltica. Para o autor alemo, os administradores do Estado reproduzem as relaes capitalistas no porque so agentes da burguesia como em Miliband ,
mas porque dependem da atividade econmica. Os administradores
dependem do mercado porque ele produz rendimentos ao Estado
via tributao e porque o apoio pblico entra em declnio se a acumulao no acontecer.
Tambm em perodos mais recentes, alguns autores do campo
marxista desenvolveram teorias que enfatizam os micro-fundamentos. O chamado "marxismo analtico" buscou vincular as perspectivas e as preocupaes do marxismo com metodologias e abordagens de outras tradies tericas. Autores como Adam Przeworski e
Jon Elster tm insistido na importncia da teoria da escolha racional
e do individualismo metodolgico para a superao das abordagens
funcionalistas no pensamento marxista. S assim o marxismo seria
capaz de superar a falta de uma teoria sobre as aes das pessoas
que fazem a histria devido nfase nos aspectos macrossociais e
estruturais.
310
Elitistas, pluralistas e marxistas
CONCLUSES
Este ensaio teve como objetivo principal discutir o campo tradicionalmente identificado como teoria poltica contempornea. Esse campo
engloba trs escolas principais de pensamento, o elitismo, o pluralismo
e o marxismo que foram aqui apresentadas como tipos ideais. Dentro
dessa perspectiva, suas principais formulaes foram contrapostas a
argumentos crticos "por dentro", isto , de autores identificados a
elas, e "por fora", de escolas que a ela se opem. Duas foram as
questes centrais que permearam a discusso: como cada uma dessas correntes refere-se ao "problema da representao poltica"
natureza prpria dos regimes democrticos contemporneos e
como apresentam a relao entre economia de mercado e democracia.
Seria o Estado contemporneo apenas a expresso dos interesses existentes na sociedade, no representando suas aes mais que
a resultante das interaes entre diferentes grupos sociais e econmicos na arena poltica? Ou seria o Estado, de certa forma, autnomo em relao sociedade, e, despeito do rtulo de democrtico,
suas aes expressariam to-s os interesses prprios daqueles que
ocupam os postos de direo? O poder material reproduz-se sem
constrangimentos no sistema poltico-democrtico, tornando-o fachada para encobrir a dominao de cunho econmico, ou o jogo
do poder estabelece as condies de acumulao de riquezas?
Que no hajam respostas definitivas a essas questes algo que
nos obriga a considerar como complementares as trs correntes de
pensamento aqui discutidas. Enquanto categorias analticas estanques, elitismo, pluralismo e marxismo tm pouco a acrescentar compreenso das sociedades capitalistas democrticas. Seguem-se dessa
afirmao duas certezas que precisamos reconhecer como vlidas.
Em primeiro lugar, certo que a distribuio do poder material
afeta o sistema poltico, mas o poder material no provm apenas da
posse de propriedades, no sentido tradicional. Sindicatos de trabalhadores, por exemplo, dispem de capacidade para mobilizar recursos materiais que no podem ser desprezados. Por outro lado,
estabelecer a simples transposio de recursos materiais para a are-
311
Carlos Pio & Mauro Porto
na poltica significa pouco quando observamos os que possuem tais
recursos no compartilharem, necessariamente, dos mesmos interesses polticos.
Uma segunda certeza que precisa ser reconhecida que, em alguma medida, qualquer Estado autnomo. A necessidade de se
criar uma entidade distanciada para resolver controvrsias envolvendo os cidados, entre si ou nas suas relaes com o prprio Estado, tem levado a reformas mais e mais abrangentes do sistema
poltico, ao menos desde os primeiros levantes de proprietrios de
terra contra o direito arbitrrio de taxao da Coroa britnica,
ainda no sculo XII.
A variedade de temas, escolas de pensamento, e possveis certezas que caracterizam o debate contemporneo certamente mais
abrangente e rica do que o exposto nos limites deste ensaio. Acreditamos, no entanto, que o enfoque adotado, particularmente a nfase
na relao entre economia de mercado e democracia, permite destacar as grande[s] questes da teoria poltica em perodos mais
recentes.
Elitistas, pluralistas e marxistas
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BACHARACH & BARATZ. "Two
faces of power", in American Political
Science Review, vol. 56, n. 4, dez. 1962.
BOTTMORE, Tom.
CARNOY, Martin.
As elites na sociedade, Rio de Janeiro, Zahar, 1974.
Estado e teoria poltica, Campinas, Papirus, 1988.
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre o
seu pensamento
poltico. Rio de Janeiro, Campus, 1989.
DAHL, R. Poliarchy participation and opposition, New Haven/Londres,
Yale University Press, 1970.
---------------- . "Uma crtica ao modelo da elite dirigente", in AMORIN,
Maria Stella (org.), Sociloga Poltica II, Rio de Janeiro, Zahar,
1970.
---------------- . Dilemmas of pluralist democracy, autonomy andcontrol, New
Haven e Londres, Yale University Press, 1982.
DOWNS, Anthony. An economic theory of democracy, Nova York, Harper
& Row Publishers, 1957, Caps. 1-3.
ELSTER, Jon.
Marx hoje, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989.
LIJPART, Arendt. Democracy in plural sodeties: a comparative exploration,
New Haven e Londres, Yale University Press, 1977.
LINDBLOM, Charles. Politics and markets, Nova York, Basic Books, 1977.
Lowi, Theodore. "American business, public policy, case studies, and
political theory", in World Politics, vol. 16, n. 4, 1964.
MANLEY, Robert.
"Neo-pluralism: a class analysis of pluralism I and
pluralism II", in American Political Science Revtew, vol. 77,1983.
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista (vrias edies).
MICHELS, Robert. Sociologia dos partidos polticos, Braslia, EdUnB, 1981.
MILIBAND ,
Ralph. "Resposta a Nicos Poulantzas", in BLACKBURN ,
Robin (org.), Ideologia na cincia social, Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1982.
---------------- . O Estado na sociedade capitalista, Rio de Janeiro, Graal,
1972.
312
313
Carlos Pio dr Mauro Porto
MOSCA, Caetano.
"A classe dirigente", in SOUZA, Amaury de (org.),
Sociologia poltica. Rio de Janeiro, Zahar, 1966.
OFFE, Claus. Problemas estruturais do Estado capitalista, Rio de Janeiro,
Tempo Brasileiro, 1984.
OLSON, Mancur Jr. The logic of collective action, Cambridge, Mass., Har-
vard University Press, 1965.
PARETO, Vilfredo. "As elites e o uso da fora na sociedade", in SOUZA, Amaury de (org.), Sociologia Poltica, Rio de Janeiro, Zahar,
1966.
<C
POULANTZAS, Nicos.
O problema do Estado capitalista", in
BLACKBURN, Robin (org.), Ideologia na cincia social, Rio de Janei-
ro, Paz e Terra, 1982.
1980.
. O Estado, o poder, o soalismo, Rio de Janeiro, Graal,
PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e social democracia, So Paulo, Cia. das
Letras, 1986.
--------------- . "Marxismo e escolha racional", in Revista Brasileira de
Cincias Sociais, vol. 3, n. 6, pp. 5-25, fev. 1988.
SCHMITTER,
Philippe. "Still the century of corporatism?", in
SCHMITTER, P. & LEMBRUCH, G. (eds.), Trends toward corporatist
intermediation, Beverly Hills/Londres, Sage Publications, 1979.
SCHUMPETER, Joseph. Capitalism, sodalism, and democracy, Londres, Allen
&Unwin, 1943.
WEBER, Max.
"A poltica como vocao" (vrias edies).
WRIGHT MILLS, C. A elite do poder, Rio de Janeiro, Zahar, 1962.
314
NOTAS BIOGRFICAS
Notas biogrficas
Alberto Carlos Almeida Doutor (IUPERJ), coordenador da
Empresa Jnior Analtica dos alunos do Curso de Graduao
de Cincias Sociais e professor do Departamento de Cincia
Poltica da Universidade Federal Fluminense.
Alexandre Barros PhD (Chicago), presidente da Earlj Warning:
Oportunidade e Risco Poltico / Relaes Governamentais.
Jess Souza Doutor em sociologia (Heidelberg), ps-doutorado (New School for Social Research), professor adjunto do
Departamento de Sociologia da Universidade de Braslia.
autor do livro Patologias da modernidade: Um dilogo entre Marx e
Weber\ organizador dos livros Multiculturalismo e racismo: Uma
comparao entre Brasil e Estados Unidos; e Simmele a Modernidade
(no prelo).
Carlos Pio Doutorando (IUPERJ), coordenador de graduao
do curso de Relaes Internacionais e professor do Departamento de Relaes Internacionais da Universidade de Braslia.
Eduardo Viola Professor titular do Departamento de Relaes
Internacionais da Universidade de Braslia, pesquisador nvel
IA do CNPq e membro da Comisso Nacional de Populao
e Desenvolvimento.
Eli Diniz Professora titular do Instituto de Economia da
UFRJ e pesquisadora associada do IUPERJ. Publicou,
recentemente, Crise, reforma do Estado e governabilidade, Brasil
1985-1995.
Estevo de Rezende Martins Doutor (Munique), professor
do Departamento de Histria da Universidade de Braslia,
consultor geral legislativo no Senado Federal.
Fabiano SantosDoutor (IUPERJ), professor e pesquisador do
Instituto Universitrio de Pesquisas do Rio de Janeiro.
Franco Csar Bernardes Doutorando em cincia poltica
(IUPERJ), foi professor da PUC/Rio de Janeiro e consultor da Escola Nacional de Administrao Pblica.
Glucio SoaresDoutor (Washington), professor titular da Universidade de Braslia, responsvel pelo projeto integrado de ,
pesquisa sobre <rViolncia no Distrito Federal e no Entorno",
foi diretor da Escola Latino-americana de Sociologia e
professor nas universidades da Califrnia UCLA e UCB ,
MIT, Cornell, entre outras.
369
Jos Augusto DrummondDoutorando (Wisconsi), coordenador da Empresa Jnior Analtica dos alunos do Curso de
Graduao de Cincias Sociais e professor do Departamento
de Cincia Poltica da Universidade Federal Fluminense.
Mateus Faro de Castro Doutor (Harvarei), coordenador do
Curso de Mestrado em Relaes Internacionais e professor
adjunto do Departamento de Relaes Internacionais da Universidade de Braslia, publicou, recentemente, com Antnio
Augusto Canado Trindade, A sociedade democrtica no final do
sculo.
Maria Izabel Vallado de Carvalho Doutora (USP), professora
adjunto do Departamento de Relaes Internacionais da
Universidade de Braslia
Maria das Graas RuaDoutora em cincia poltica (IUPERJ), professora adjunto do Departamento de Relaes Internacionais da
Universidade de Braslia.
Mauro Porto Doutorando (Califrnia, San Diego), professor
assistente do Departamento de Relaes Internacionais da
Universidade de Braslia.
Octaciano Nogueira Professor adjunto do Departamento de
Cincia Poltica da Universidade de Braslia, autor dos livros
O poder legislativo no Brasi/e. Partidos p//ticos no Brasil.
VencioA. de Lima Doutor (Illinois-Urbana), coordenador do
Ncleo de Estudos sobre Mdia e Poltica do Centro de Estudos Avanados Multidisciplinares da Universidade de Braslia.
370
Sumrio
SUMRIO
Apresentao
Captulo l
A poltica como cincia ou
em busca do contingente perdido
Fabiano Santos
Captulo 2
A atividade profissional do cientista poltico. Carreiras acadmicas
e no acadmicas e as novas oportunidades oferecidas pelo
mercado de trabalho
Jos Augusto Drummond & Alberto Carlos Almeida
Captulo 3
Executivo e burocracia
Jess Souza
Captulo 4
Relaes entre os poderes Legislativo e Executivo
Estevo de Recende Martins
Captulo 5
O estudo do Judicirio
Marcus Faro de Castro
Captulo 6
Crise ou falncia:
Partidos polticos ontem e hoje
Maria Isabel Vallado de Carvalho
Captulo 7
Sistemas eleitorais e seus efeitos polticos
Octaciano Nogueira
Captulo 8
Comportamento poltico e cultura poltica
Glucio Soares
173
Captulo 9
No existem pessoas loucas, existem apenas pessoas com 197
gostos diferentes ou cuidado com os defensores do interesse
pblico, lobbies e presses na democracia liberal
Alexandre Barros
Capitulo 10
Os mdia e a poltica
Vencio A. de Uma
Captulo 11
Anlise de polticas pblicas: Conceitos bsicos
Maria das Graas Rua
209
231
Captulo 12
Governabilidade e democracia
Eli Diniz
Captulo 13
Teoria poltica contempornea: Poltica e economia
segundo os argumentos elitistas, pluralistas e marxistas
Carlos Pio & Mauro Porto
261
291
Captulo 14
Escolha racional e novo institucionalismo:
Notas introdutrias
Maria das Graas Rua & Franco Csar Eernardes
Captulo 15
Os novos desafios da governabilidade na sociedade de
informao globalizada
Eduardo Viola
315
349
Você também pode gostar
- O Direito do Trabalho no Estado Democrático de DireitoNo EverandO Direito do Trabalho no Estado Democrático de DireitoAinda não há avaliações
- Livro Sociedades Comerciais - Paulo Olavo e CunhaDocumento190 páginasLivro Sociedades Comerciais - Paulo Olavo e CunhaLuísa Castelo Branco100% (5)
- Denhardt TOP 2Documento21 páginasDenhardt TOP 2mfernandes_257394Ainda não há avaliações
- O Processo de Elaboração de Políticas Públicas No Estado CapitalistamodernoDocumento48 páginasO Processo de Elaboração de Políticas Públicas No Estado CapitalistamodernokennerhudsonAinda não há avaliações
- Meta 3 Auditor Sef MG Tributacao v2 PDFDocumento52 páginasMeta 3 Auditor Sef MG Tributacao v2 PDFNota Aragami100% (1)
- Representação Política - PitkinDocumento34 páginasRepresentação Política - Pitkintextos15100% (1)
- Prevenção e Responsabilidade Ou Punição e Culpa?Documento15 páginasPrevenção e Responsabilidade Ou Punição e Culpa?Guilherme DornellesAinda não há avaliações
- A Gramática Política Do Brasil - Nunes PDFDocumento26 páginasA Gramática Política Do Brasil - Nunes PDFEduardo Manhães100% (2)
- Cidadania EuropeiaDocumento35 páginasCidadania EuropeiaLeonor FaustinoAinda não há avaliações
- Capitalismo e Democracia WoodDocumento15 páginasCapitalismo e Democracia WoodJuliana Mulatinho100% (1)
- Esperança Domingos EconomiaDocumento11 páginasEsperança Domingos EconomiaMiguel MPAinda não há avaliações
- Resposta Da Questão 2 C.S.Documento1 páginaResposta Da Questão 2 C.S.Ebraim SousaAinda não há avaliações
- 1 - As Concepções de Estado e As Influências Do Neoliberalismo Na Política EducacionalDocumento22 páginas1 - As Concepções de Estado e As Influências Do Neoliberalismo Na Política EducacionalbrevesapostilasAinda não há avaliações
- Resenha Do Artigo de Daniel SarmentoDocumento7 páginasResenha Do Artigo de Daniel SarmentoRaul SousaAinda não há avaliações
- Ciencias PoliticasDocumento14 páginasCiencias PoliticasCalton17100% (1)
- Módulo 1 - A Formação Do Estado ContemporâneoDocumento19 páginasMódulo 1 - A Formação Do Estado ContemporâneoEvelineAinda não há avaliações
- Direito Publico U2Documento30 páginasDireito Publico U2wanderbbs22Ainda não há avaliações
- Os Desafios Do Estado ContemporâneoDocumento3 páginasOs Desafios Do Estado ContemporâneoJoão Paulo F. SalvianoAinda não há avaliações
- Ec43ea4fGestao Publica Administracao ADocumento53 páginasEc43ea4fGestao Publica Administracao ASaulo Tarso Dos SantosAinda não há avaliações
- Livro - Burocracia e Políticas Públicas No Brasil - Interseções Analíticas-Capitulo IDocumento51 páginasLivro - Burocracia e Políticas Públicas No Brasil - Interseções Analíticas-Capitulo ISilvio HashimotoAinda não há avaliações
- Mídia, Poder e Controle SocialDocumento13 páginasMídia, Poder e Controle SocialPaula JurgielewiczAinda não há avaliações
- Democracia - Bandeira de Mello PDFDocumento10 páginasDemocracia - Bandeira de Mello PDFpedropatury100% (1)
- Estado, Poder, DominaçãoDocumento19 páginasEstado, Poder, DominaçãoBeliza Stasinski LopesAinda não há avaliações
- Capitulo 3Documento1 páginaCapitulo 3Andreia MiguelAinda não há avaliações
- Aula 3 Gestão e MediaçãoDocumento14 páginasAula 3 Gestão e MediaçãoluizAinda não há avaliações
- 6.2 EstadoPolticaSocialeCorporativismoDocumento18 páginas6.2 EstadoPolticaSocialeCorporativismoBruno PasquarelliAinda não há avaliações
- As Origens Do Poder Democracia e RepúblicaDocumento13 páginasAs Origens Do Poder Democracia e RepúblicacartneypAinda não há avaliações
- Racismo e CriseDocumento12 páginasRacismo e CriseAna Cleia Ferreira RosaAinda não há avaliações
- Roteiro de Aula - Sessao13Documento3 páginasRoteiro de Aula - Sessao13Rita GonçaloAinda não há avaliações
- A Empresa No Estado Democratico de DireitoDocumento24 páginasA Empresa No Estado Democratico de Direitomarilda correiaAinda não há avaliações
- Mariarfs,+12326 36545 1 CEDocumento21 páginasMariarfs,+12326 36545 1 CECaio RamosAinda não há avaliações
- Texto Bibliográfico III Maurício Godinho DELGADODocumento28 páginasTexto Bibliográfico III Maurício Godinho DELGADOWillian DangeloAinda não há avaliações
- 826 2579 1 SMDocumento30 páginas826 2579 1 SMMaria Eduarda RodriguesAinda não há avaliações
- Fichamento de Medieval 20-11-23Documento4 páginasFichamento de Medieval 20-11-23KauãAinda não há avaliações
- 132404-Texto Do Artigo-252984-1-10-20170515 PDFDocumento4 páginas132404-Texto Do Artigo-252984-1-10-20170515 PDFCris Sgrancio SgrancioAinda não há avaliações
- A Democracia o Estado-Nação e o Sistema GlobalDocumento28 páginasA Democracia o Estado-Nação e o Sistema GlobalElisângela Serra LimaAinda não há avaliações
- Gomes Joo Salis (2013) Interesse Público Controle Democrático Do Estado e Cidadania. in Madureira C e Asensio M (Eds) (2013) Handbook de Administração Pública - Capítulo 1. INA EditoraDocumento17 páginasGomes Joo Salis (2013) Interesse Público Controle Democrático Do Estado e Cidadania. in Madureira C e Asensio M (Eds) (2013) Handbook de Administração Pública - Capítulo 1. INA EditoraMiguel GeraldesAinda não há avaliações
- A Relação Entre Estado Moderno e A Administração PúblicaDocumento6 páginasA Relação Entre Estado Moderno e A Administração Públicaalberico montenegroAinda não há avaliações
- CW 4 Secao 1Documento9 páginasCW 4 Secao 1Anna Klara Da Silva FariaAinda não há avaliações
- Gestão Democratica e Serviço Social Cap IIIDocumento33 páginasGestão Democratica e Serviço Social Cap IIInathalia02rnAinda não há avaliações
- Politica de Sáude - Uma Politica SocialDocumento31 páginasPolitica de Sáude - Uma Politica SocialSérgioAinda não há avaliações
- A Constituição Do Experimentalismo Democrático The Constitution of Democratic ExperimentalismDocumento16 páginasA Constituição Do Experimentalismo Democrático The Constitution of Democratic ExperimentalismYan AndradeAinda não há avaliações
- Trabalho Met Tec Pesquisa JULIA ALMEIDA DE AZEVEDODocumento10 páginasTrabalho Met Tec Pesquisa JULIA ALMEIDA DE AZEVEDOJulia almeidaAinda não há avaliações
- Resenha # Wright Mills - A Elite e o PoderDocumento9 páginasResenha # Wright Mills - A Elite e o Podernanacardozo100% (1)
- 9edaaa0c0b963d083d7a923230cbbaf9Documento3 páginas9edaaa0c0b963d083d7a923230cbbaf9Pedro ÍtaloAinda não há avaliações
- Etica e InteresseDocumento10 páginasEtica e InteresseleonardomarconiAinda não há avaliações
- 2 OLIVEIRA Vises Tericas Sobre o Papel Do Estado 2009 Cap 1 Pag 23 A 49Documento29 páginas2 OLIVEIRA Vises Tericas Sobre o Papel Do Estado 2009 Cap 1 Pag 23 A 49Daniel OvidioAinda não há avaliações
- Aula 1 F.ADMPDocumento41 páginasAula 1 F.ADMPbianca vasconcellosAinda não há avaliações
- Autarquias Locais - VascoAlmeidaeCostaDocumento14 páginasAutarquias Locais - VascoAlmeidaeCostaMarcelina Gonçalves GonçalvesAinda não há avaliações
- Cintra - Presidencialismo e ParlamentarismoDocumento14 páginasCintra - Presidencialismo e Parlamentarismoeduaardo2oddjAinda não há avaliações
- CidadaniaDocumento8 páginasCidadaniaLarryAinda não há avaliações
- DOMINGUES, José Maurício. Sociologia e Modernidade (Cap. 3 O Estado, A Democracia e A CidadaniaDocumento14 páginasDOMINGUES, José Maurício. Sociologia e Modernidade (Cap. 3 O Estado, A Democracia e A CidadaniaMarcos BealAinda não há avaliações
- 7 GT 01 - FrancaDocumento16 páginas7 GT 01 - FrancaHugo Sanches PicançoAinda não há avaliações
- BRAVO, Maria Inês Souza. MENEZES, Juliana Souza Bravo de - Participação Popular e Controle Social Na SaúdeDocumento6 páginasBRAVO, Maria Inês Souza. MENEZES, Juliana Souza Bravo de - Participação Popular e Controle Social Na SaúdeRaonyAinda não há avaliações
- Trabalho 2 ZuinDocumento9 páginasTrabalho 2 ZuinMarcos Carara AmerichiAinda não há avaliações
- Resenha 2 RenanDocumento3 páginasResenha 2 RenanEmanuel FreitasAinda não há avaliações
- Reusumo - Transporte Urbano, Espaço e EquidadeDocumento21 páginasReusumo - Transporte Urbano, Espaço e Equidadealexyztorres100% (1)
- Estado Democrático de Direito - Uma Utopia PossívelDocumento19 páginasEstado Democrático de Direito - Uma Utopia PossívelJoão Marcos Mariani JuniorAinda não há avaliações
- Administração PúblicaDocumento13 páginasAdministração PúblicaMarco AndréAinda não há avaliações
- Livro Capital Social 2006Documento211 páginasLivro Capital Social 2006Ana Flávia de AlmeidaAinda não há avaliações
- Conrado DemocraciaDocumento18 páginasConrado DemocraciaAdamo Manuel LevenAinda não há avaliações
- Empresas transnacionais: a ética empresarial como instrumento de efetivação dos direitos sociaisNo EverandEmpresas transnacionais: a ética empresarial como instrumento de efetivação dos direitos sociaisAinda não há avaliações
- Texto 6 Etica - e - Politica Eli DinizDocumento14 páginasTexto 6 Etica - e - Politica Eli Diniztextos15Ainda não há avaliações
- LUIS FELIPE MIGUEL A Democracia Domestic AdaDocumento29 páginasLUIS FELIPE MIGUEL A Democracia Domestic Adatextos15Ainda não há avaliações
- Artigo Anpocs - Identidade Nacional e Nacionalismo - Paulo NascimentoDocumento20 páginasArtigo Anpocs - Identidade Nacional e Nacionalismo - Paulo Nascimentotextos15Ainda não há avaliações
- Texto 3 - Ciencia Politica Teoria e Metodo - DuvergerDocumento17 páginasTexto 3 - Ciencia Politica Teoria e Metodo - Duvergertextos15100% (6)
- Carlos Pio & Mauro Porto Elitistas Pluralist As MarxistasDocumento16 páginasCarlos Pio & Mauro Porto Elitistas Pluralist As Marxistastextos15100% (2)
- Politica Como Vocaçao-WeberDocumento38 páginasPolitica Como Vocaçao-Webertextos15Ainda não há avaliações
- Texto 2 Refelxoes Sobre o Conceito de Politica SchimitterDocumento5 páginasTexto 2 Refelxoes Sobre o Conceito de Politica SchimitterVitor Rodrigues SoaresAinda não há avaliações
- Representação Política em 3-D Elementos para Uma Teoria Ampliada Da Representação Política (Luis Felipe Miguel)Documento19 páginasRepresentação Política em 3-D Elementos para Uma Teoria Ampliada Da Representação Política (Luis Felipe Miguel)Lígia MeloAinda não há avaliações
- O Homem, o Estado e A Guerra - WaltzDocumento74 páginasO Homem, o Estado e A Guerra - Waltztextos15100% (2)
- Montesquieu Sociedade e Poder-AlbuquerqueDocumento40 páginasMontesquieu Sociedade e Poder-Albuquerquetextos15Ainda não há avaliações
- DJ7323 2022-DisponibilizadoDocumento818 páginasDJ7323 2022-DisponibilizadoLeonel CavalcantiAinda não há avaliações
- DO Nº 133, de 20 JUL 2023 - Pág. 70 (Termo Aditivo I Ao Contrato de Empreitada - 04 JUL 2023)Documento1 páginaDO Nº 133, de 20 JUL 2023 - Pág. 70 (Termo Aditivo I Ao Contrato de Empreitada - 04 JUL 2023)Mario AthaydeAinda não há avaliações
- Portaria TJDFTDocumento4 páginasPortaria TJDFTMetropolesAinda não há avaliações
- Expediente: Federação Dos Municípios Do Rio Grande Do Norte - FEMURNDocumento525 páginasExpediente: Federação Dos Municípios Do Rio Grande Do Norte - FEMURNkailanramissesAinda não há avaliações
- Teoria Da Agência Aplicada Ao Setor PúblicoDocumento14 páginasTeoria Da Agência Aplicada Ao Setor PúblicoEliza MedeirosAinda não há avaliações
- Modelo Recurso 2 Instancia CetranDocumento2 páginasModelo Recurso 2 Instancia CetranWilson Da Silva JuniorAinda não há avaliações
- NOBRE - M - O Imobilismo em Movimento - Baixar PDF deDocumento1 páginaNOBRE - M - O Imobilismo em Movimento - Baixar PDF deThaysAinda não há avaliações
- Pesquisa - FamílIa RomanovDocumento3 páginasPesquisa - FamílIa RomanovJoséQuimAinda não há avaliações
- Eduardo Bueno Como A História Se Repete No BrasilDocumento9 páginasEduardo Bueno Como A História Se Repete No BrasilArtur SantosAinda não há avaliações
- (TEXTO) Simón Bolivar - Meu Sonho de Liberdade PDFDocumento4 páginas(TEXTO) Simón Bolivar - Meu Sonho de Liberdade PDFDaniel CoelhoAinda não há avaliações
- PORTARIA IEPHA #47 2008 Procedimentos e Normas Internas de Instrução Dos Processos de RegistroDocumento6 páginasPORTARIA IEPHA #47 2008 Procedimentos e Normas Internas de Instrução Dos Processos de RegistroLuis MolinariAinda não há avaliações
- Nota Técnica. Parecer MPMGDocumento13 páginasNota Técnica. Parecer MPMGM DiasAinda não há avaliações
- Formulário Cadastro Pessoa Física - LocaçãoDocumento2 páginasFormulário Cadastro Pessoa Física - LocaçãoBruno CamposAinda não há avaliações
- Da-Rin, Silvio-Luís Tomás Reis e Silvino SantosDocumento29 páginasDa-Rin, Silvio-Luís Tomás Reis e Silvino Santososcarguarin100% (1)
- Atualidades 1Documento99 páginasAtualidades 1saymon pinheiroAinda não há avaliações
- Ata Reunião Conselho Gestor PPP Hospital Traumatologia Urgencia e Emergencia de NatalDocumento3 páginasAta Reunião Conselho Gestor PPP Hospital Traumatologia Urgencia e Emergencia de NatalCarlos FrançaAinda não há avaliações
- Diario Oficial 2020-12-02 CompletoDocumento100 páginasDiario Oficial 2020-12-02 CompletoTiagoAlvesAinda não há avaliações
- Estrutura Da CconstituiçãoDocumento2 páginasEstrutura Da CconstituiçãoKarine BortoliAinda não há avaliações
- Aula 08Documento10 páginasAula 08Antonio RiegerAinda não há avaliações
- Revisão de Tributário II para G1 - Com GabaritoDocumento9 páginasRevisão de Tributário II para G1 - Com GabaritoAndré Melo0% (1)
- Fato Relevante BRB DTVM Saída Do FIP LSHDocumento1 páginaFato Relevante BRB DTVM Saída Do FIP LSHMetropolesAinda não há avaliações
- Município Da Estância Balneária de Praia Grande: Minuta de Lei Complementar de XX de XXXXXXX de 2022Documento5 páginasMunicípio Da Estância Balneária de Praia Grande: Minuta de Lei Complementar de XX de XXXXXXX de 2022EvelinAinda não há avaliações
- Resumão de Ética Na Administração PúblicaDocumento40 páginasResumão de Ética Na Administração Públicaapi-3805697100% (4)
- Rio de Janeiro 2022-12-29 CompletoDocumento120 páginasRio de Janeiro 2022-12-29 CompletoLuiz AguiarAinda não há avaliações
- Educacao Publica Se Faz Com Comunicacao PublicaDocumento9 páginasEducacao Publica Se Faz Com Comunicacao PublicaTânia Márcia Pereira da Silva FujiiAinda não há avaliações
- A Política Externa de Angola Na África Austral SADCDocumento111 páginasA Política Externa de Angola Na África Austral SADCAl CageAinda não há avaliações
- Projeto de Mestrado - Dyeenmes P CarvalhoDocumento33 páginasProjeto de Mestrado - Dyeenmes P CarvalhoDyeenmes Procópio de CarvalhoAinda não há avaliações