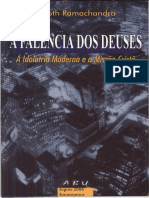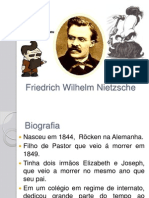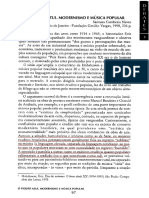Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
(ARTIGO) Beatriz Sarlo - Modernidade
(ARTIGO) Beatriz Sarlo - Modernidade
Enviado por
Eduardo GuerraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
(ARTIGO) Beatriz Sarlo - Modernidade
(ARTIGO) Beatriz Sarlo - Modernidade
Enviado por
Eduardo GuerraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Modernidade e mescla cultural1
transcrio
Beatriz Sarlo2
Traduo: Ana Claudia Veiga de Castro
Arquiteta, mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de So Paulo, anacvcastro@gmail.com
Reviso tcnica
Fernanda Aras Peixoto
Sociloga, Professora doutora no Departamento de Antropologia
da Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da USP,
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315, CEP 05508-900, So Paulo, SP,
(11) 3091-3770, peixoto@uol.com.br
Laura Socolowicz
Professora de espanhol, Buenos Aires
Buenos Aires, 1920: se toda periodizao discutvel, essa dcada, talvez como nenhuma outra, apresenta
mudanas de maneira espetacular. No se trata somente das vanguardas estticas e da modernizao
econmica, seno da modernidade como estilo cultural, que penetra o tecido de uma sociedade que no
resiste a ela, nem nos projetos de suas elites polticas, nem na sua densidade de vida
O
1
Modernidad y mezcla cultural in Horacio Vsquez-Rial
(dir). Buenos Aires 1880-1930.
La capital de un imperio imaginario. Madrid: Alianza Editorial, 1996. Este texto foi
publicado em espanhol no
Brasil com o acrscimo da seo Modernidade e ruptura
(traduzida aqui), sob o ttulo
Modernidad y mezcla cultural. El caso de Buenos Aires,
em Ana Maria de Moraes
Belluzzo (org). Mo-dernidade:
vanguardas artsticas na Amrica Latina, So Paulo: Memorial da Amrica Latina/ Editora da UNESP, 1990.
2
Crtica literria e da cultura
na Argentina. Professora da
Universidade de Buenos
Aires, pesquisadora do Centro de Investigaciones sobre
el Estado y la Administracin
CISEA e editora da revista
Punto de Vista. autora,
entre outros, de Una modernidad perifrica: Buenos Aires
1920 y 1930, Buenos Aires:
Nueva Visin, 1988 (no traduzido para o portugus) e
Escenas da vida pos-moderna, Buenos Aires: Ariel (Edio brasileira: Cenas da vida
ps-moderna, Rio de Janeiro:
Ed. da UFRJ, 1997, trad. Sergio Alcides).
r sco
4 2[2006
impacto dos processos socioeconmicos, iniciados
na ltima dcada do sculo 19, alterou no s o
perfil e a ecologia urbana, mas o conjunto de
experincias de seus habitantes. Desta forma, Buenos
demogrfica nova, o progresso econmico superpe
o modelo realidade. Tem-se a iluso de que o
carter perifrico desta nao sul-americana pode
ser lido como um avatar de sua histria e no como
Aires interessa como espao fsico e como mito
cultural: cidade e modernidade se pressupem, pois
a cidade o cenrio das mudanas, e as exibe de
maneira ostensiva, s vezes brutal, difundindo-as
um dado de seu presente. Ao mesmo tempo, persiste
de maneira contraditria, mas no inexplicvel, a
idia de periferia e de espao culturalmente tributrio, de formao monstruosa ou inadequada
e as generalizando.
em relao referncia europia3. Sentimentos
contraditrios que se espalham nas diferentes
tonalidades da cultura do perodo: da celebrao
nostalgia ou crtica. Alm disso, nos anos vinte
No se surpreende, ento, que modernidade,
modernizao e cidade apaream misturados com
noes descritivas, como valores, espaos fsicos e
processos materiais e ideolgicos. Na medida em
que Buenos Aires se altera, diante dos olhos de
seus habitantes, com uma acelerao que pertence
ao ritmo das novas tecnologias de produo e
transporte, a cidade pensada como condensao
simblica e material da mudana. Assim ela
celebrada e tambm, desta perspectiva, julgada.
e trinta se constroem sobre Buenos Aires alguns
mitos fortemente polticos: a metfora da cidadeporto, por exemplo, esvaziando, como uma voraz
mquina centrpeta, o resto do pas que ainda no
se pensava urbano quando j comeava a s-lo
quase totalmente4. Seja como for, os anos vinte
realizam o desejo e o temor da cidade na sociedade
argentina, e a noo de cidade se converte em
organizadora do pensamento sobre a cultura.
A idia de cidade inseparvel das situaes
suscitadas pelos processos de modernizao e
O desejo de cidade mais forte que as utopias
tambm de outra idia: chegou-se, enfim, a se colocar
Buenos Aires na perspectiva que havia animado os
projetos institucionais do sculo 19, a cidade venceu
o mundo rural, a imigrao proporciona uma base
rurais na tradio argentina. Neste sentido, os
intelectuais do sculo 20 se inscrevem melhor no
paradigma de Sarmiento que no de Jos Hernandez.
A cidade como espao ideal tem sido no s um
revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo
programa de ps-graduao do departamento de arquitetura e urbanismo
eesc-usp
87
Modernidade e mescla cultural
3
O discurso ensastico da
dcada ter como um de seus
eixos esta monstruosidade
que emerge da modernizao
e que, para seus autores,
no havia sido, na experincia europia, acompanhante
obrigatrio da modernidade.
Ezequiel Martinez Estrada
expe em Radiografa de la
Pampa (1933) suas crticas a
uma nao que no havia
respondido s promessas e
aos sonhos dos founding
fathers: a imigrao depositou na Argentina apenas
uma imagem degradada da
Europa (que j havia sido
antecipada pela conquista
espanhola concebida como
violao); Buenos Aires uma
mscara que s consegue
mostrar de maneira muito
evidente o fracasso da civilizao na Amrica. Com uma
viso menos pessimista,
Eduardo Mallea ( Historia de
uma pasin argentina, 1937)
experimenta o deslumbramento ante a grande cidade,
mas ao mesmo tempo, imagina que a cidade visvel e
material oculta outra realidade invisvel sobre cujos valores deveria se fundar a cultura argentina.
4
Ral Scalabrini Ortiz, na
dcada de 1930, inicia sua
tarefa de denncia da espoliao econmica da Argentina por parte do imperialismo
britnico que, definindo o traado da rede ferroviria, havia deformado o territrio
nacional e convertido Buenos
Aires num espao para onde
confluam, injustamente, todas as riquezas produzidas
pelas provncias esquecidas.
Os trabalhos de Scalabrini
Ortiz tm um poderoso impacto na constituio de ideologias e mitos nacionalistas que,
dcadas depois, se fundiram
no peronismo.
5
Para Jos Luis Romero, esta
produtividade do urbano (e
das elites urbanas) um dos
traos constitutivos da tradio cultural e institucional
latinoamericana.
Ver:
Latinoamrica: las ciudads y
las ideas. Mxico: Siglo XXI,
1976 [Edio brasileira: Amrica Latina: as cidades e as
idias, Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2004, trad. Bella
Josef].
tema poltico, como se pode ler em vrios captulos
de Facundo ou em Argirpolis, no apenas um
caso das vanguardas argentinas. De fato, a profundidade e a radicalidade da ruptura tm a ver
cenrio onde os intelectuais descobriram a mescla
que define a cultura argentina, mas tambm um
imaginrio que a literatura inventa e ocupa: Arlt,
Marechal, Borges. A cidade organiza debates
com a fora que a tradio exerce. Uma maior
radicalidade corresponde a uma sociedade onde
as formas modernas das relaes intelectuais j se
impuseram, constituindo-se faces e partidos
histricos, utopias sociais, sonhos (como no poderia
deixar de ser) irrealizveis, paisagens da arte. Falar
da cidade significa alcanar um territrio que tem
sustentado muitas de nossas invenes. Mas, quase
esttico-ideolgicos, modalidades autnomas de
legitimao, infraes ou disputas de smbolos e
autoridades. Frente a fortes perfis consolidados, o
enfrentamento aparece como uma estratgia ne-
que em primeiro lugar, a cidade o cenrio por
excelncia do intelectual, e os escritores, assim como
seu pblico, so atores urbanos5.
cessria do ponto de vista dos novos artistas e das
novas poticas. Na cultura argentina, este modelo
geral de relao com o passado encontra inflexes
particulares no movimento de leitura e recuperao
Como mostrou Schorske em La idea de ciudad en
el pensamiento europeu: de Voltaire a Splenger6,
a cidade um problema, uma paisagem inevitvel,
imaginria de uma cultura que teria sido afetada
pela imigrao e pela urbanizao.
uma utopia e um inferno para os modernos. A
cidade tambm uma forma de abordar essa outra
gama de noes e polmicas que est hoje na ordem
do dia terico: no debate modernidade-ps-
Alm disso, na Argentina como em outros cenrios
latino-americanos, pode se indicar uma diferena
entre as formas da modernidade artstica, caracterizadas pela reivindicao de autonomia, e as
modernidade, a cidade um tema, como o foi para
as vanguardas argentinas dos anos vinte.
formas da ruptura vanguardista, que se definem
na legitimao pblica do conflito. Por outro lado,
o processo de modernizao cultural, desenrolado
no sculo 20, inclui em seu centro os programas
Modernidade e ruptura7
Em sua Teoria Esttica, Adorno descreve a autoridade
do novo como algo historicamente inelutvel8,
que impe o movimento e a forma da sensibilidade
pelo menos desde o romantismo. Jauss tem rastreado os percursos deste conceito desde as primeiras
disputas entre antigos e modernos, considerandoo no s o motor da mudana esttica e cultural,
mas tambm uma das maneiras pela qual o presente
dialoga e se diferencia em sentido projetual em
relao ao passado9.
Na Europa, o processo da modernidade se caracteriza
por uma posio de relativa independncia em
relao ao passado, que Carl Schorske10 descreve
como uma indiferena crescente: o passado j no
visto numa relao de continuidade ou funcionalidade em relao s opes atuais. Schorske se
refere a uma morte da histria, condio para
que a modernidade se implante como discurso
global e como prtica hegemnica nas esferas
literrias e culturais: a vitria de Nietzsche.
Mas se poderia tambm pensar nos processos de
refuncionalizao do passado, especialmente no
r sco
4 2[2006
humanistas e de esquerda. Se para a vanguarda
o novo fundamento de valor, para a frao da
esquerda intelectual, a reforma, a revoluo ou
qualquer outra figura da utopia transformadora
se prope como princpio. O que justamente acentua
a modernidade so os processos de mudana do
fundamento das prticas culturais.
Benjamim, Adorno e Brger, em contraposio ou
em dilogo com as grandes vanguardas do sculo
20, trabalharam as relaes entre vanguarda e
modernidade, debatendo especialmente o conceito
de autonomia que dessacraliza a arte e que produz
as condies as quais os surrealistas responderam
com sua utopia unificadora de arte e vida11. A
destruio da aura, a esttica do fragmento, a
modificao do conceito de obra, assinalam
inflexes da problemtica sobre o moderno e seu
caso particular, as vanguardas. Nesse marco se abrem
novos sistemas de relaes (e de conflitos) entre
arte e pblico, arte e poltica, arte e sociedade
industrial, arte e tecnologia.
O moderno tambm uma forma de afetividade e
uma modalidade de experimentar a mudana social,
transcrio
88
Modernidade e mescla cultural
Ver: Punto de Vista, Buenos
Aires, n. 30, julho de 1997.
[Publicado em portugus
como: A cidade segundo o
pensamento europeu: de
Voltaire a Spengler, Espao
e Debates, n. 27, So Paulo,
1989].
Esta seo no faz parte do
ensaio original, apenas do
texto publicado no Brasil (Cf.
Belluzzo, 1990). Decidimos,
porm, acrescent-la, por
conter idias que auxiliam a
compreenso do argumento
desenvolvido [NT].
7
Theodor W. Adorno, Teora
Esttica . Madrid: Taurus,
1971, p. 36. [Edio brasileira: Teoria Esttica, So Paulo: Martins Fontes, 1988,
trad. Artur Moro]
8
9
Hans-Robert Jauss. Esthtique de la reception. Paris:
Gallimard, 1978; especialmente La modernit dans la
tradition litteraire et la conscience daujourdhui.
10
Carl Schorske. Fin-de-sicle
Vienna. Nova York: Random
House, 1981. [Edio brasileira: Viena fim-de-sculo .
So Paulo/ Campinas: Cia das
Letras/ Editora da Unicamp,
1990, trad. de Denise
Bottmann].
11
Walter Benjamim, Iluminaciones 2. Madrid: Taurus,
1980; Peter Brger, Theory of
the avant-garde. Minneapolis: University of Minnesota
Press, 1984.
12
Marshal Berman, All that is
Solid Melts into Air , Nova
York: Simon and Schuster,
1982. [Edio brasileira: Tudo
que slido desmancha no
ar, So Paulo: Cia das Letras,
1990, trad. Carlos Felipe
Moiss e Ana Maria Ioriatti].
13
Ver: Xul Solar; 1887-1953,
Paris: Muse dArt Moderne
de la Ville de Paris, 1977;
prefcio de Aldo Pellegrini.
r sco
4 2[2006
tecnolgica e espacial do capitalismo. Os artistas
representam e combatem, quase ao mesmo tempo,
multiplica e ao mesmo tempo se diferencia, mas
sempre se mostra ante o desejo que j no re-
um conjunto de novas experincias, muitas vezes
traumticas: o arrojado homem de letras no tourbillon
social da cidade transformada, o dandy e sua
contraparte indivisvel, o desesperado que busca
conhece os limites das hierarquias.
refgio na transgresso ou na fuga, o otimismo
frente a um mundo em transformao e a melancolia frente a um passado irrecupervel. Diferentes
estruturas da afetividade, para usar a expresso de
Raymond Willians, esto na base de um recondicionamento profundo das subjetividades e do
surgimento de novas polticas e novas morais;
poticas da instabilidade e da transitoriedade se
vinculam com a instabilidade e a transitoriedade
da obra de arte mesma, produzindo gestos, projetos,
acontecimentos, cuja particularidade vincular o
discurso esttico com as prticas pblicas: do cabar
dadasta ou expressionista s festas da vanguarda
martinfierrista portenha.
A cidade como cenrio de mescla
O espao da grande cidade moderna (modelo do
qual Buenos Aires se aproxima nas primeiras dcadas
deste sculo) prope um cenrio para as trocas
culturais, onde, hipoteticamente, todos os encontros
e emprstimos so possveis. Trata-se ento de uma
cultura marcada pelo princpio da heterogeneidade.
Palco onde se perseguem os fantasmas da modernidade, a cidade a mais poderosa mquina
simblica do mundo moderno. A heterogeneidade
do espao urbano torna o diferente extremamente
visvel; ali se constroem e se reconstroem de modo
incessante os limites entre o privado e o pblico;
ali o cruzamento social determina as condies da
mescla e produz a iluso ou a possibilidade real de
ascenses e dissenses vertiginosas. E, se o caminho
veloz em direo fortuna faz da cidade o locus de
A tecnologia a maquinaria novidadeira do cenrio
urbano; ela produz novas experincias de espacialidade e de temporalidade: utopias futuristas
vinculadas velocidade dos transportes, iluminao
que produz um corte vigoroso dos ritmos da natureza,
aos grandes recintos fechados que so outras formas
de rua, de mercado e de gora.
A iluminao benjaminiana que descobre novas
perspectivas de anlise na cidade moderna (seus
textos sobre Baudelaire se entrelaam inseparavelmente ao projeto sobre as passagens de Paris)
coloca o cenrio urbano como eixo em torno do
qual se organiza a cultura do sculo 19 europeu. A
trama urbana, fortemente marcada pelo que
Marshall Berman considera as feridas, mas tambm
os ganhos da modernidade12, proporciona lugares
para a transao de valores diferentes e para o
conflito de interesses (pensado em sentido mais
amplo de disputa esttica, enfrentamento poltico,
mescla cultural provocada pela imigrao ou pelos
deslocamentos populacionais): o grande teatro de
uma cultura complexa.
Este novo tipo de formao esttico-ideolgica se
manifesta em primeiro lugar no cruzamento de
discursos e prticas, na medida em que a cidade
moderna sempre heterognea porque se define
como espao pblico: a rua o lugar, entre outros,
onde diferentes grupos sociais realizam suas batalhas
de ocupao simblica. A arquitetura, o urbanismo
e a pintura olham, recusam, corrigem e imaginam
uma cidade nova.
Em Buenos Aires, o pintor Xul Solar13, companheiro
uma utopia de ascenso, a possibilidade do anonimato a converte, como assinalou Benjamin, no lugar
preferido, no nico possvel, do flneur, do conspirador (que vive sua solido entre os homens), do
dos vanguardistas da dcada de vinte, desconstri
o espao plstico, tornando-o ao mesmo tempo
abstrato e tecnolgico, geomtrico e habitado pelos
smbolos de uma peculiar fico mgico-cientfica.
voyeur [buscn ertico] que se eletriza pelo olhar
da desconhecida que passa; o vcio e a ruptura dos
limites morais estabelecidos so celebrados como
a glria ou o estigma da cidade. O espao pblico
perde sacralidade: todos o invadem, todos consideram a rua como o lugar comum onde a oferta se
Os aviadores desenhados por Xul flutuam em planos
onde se misturam bandeiras e insgnias: referncia
extremamente elaborada que pode ser lida como
a soma da modernizao tcnica e da diversidade
nacional, na qual Buenos Aires se converte em cenrio
e suporte.
transcrio
89
Modernidade e mescla cultural
As utopias da arquitetura se apresentam tambm
como uma resposta complexa ante a transformao
de um pblico mdio e popular estratificado tanto
social como ideolgica e politicamente para o qual
de Buenos Aires. Wladimiro Acosta imagina entre
1927 e 1935 uma fico arquitetnica, o City-block,
como alternativa ao crescimento certamente catico
da cidade. De outro lado, Victoria Ocampo (uma
se produz uma srie de colees e revistas que se
estendem da literatura de placer y consolacin
at uma explcita inteno propagandstica, pedaggica e social.
intelectual aristocrata) se converte em patrona e
mecenas do modernismo arquitetnico e o promove
como instrumento de purificao do gosto em sua
revista Sur, criada em 1931, por pens-lo indis-
Uma esquerda reformista e ecltica funda as instituies de difuso cultural (bibliotecas populares,
pensvel numa cidade onde a imigrao deixou
marcas materiais que produzem o efeito de uma
anarquia estilstica com diversas origens nacionais.
O modernismo proporia um programa de homogeneizao frente ao volapuk estilstico de origem
migratria: seus volumes e fachadas disciplinam a
rua.
centros de conferncias, editoras, revistas) para
aqueles setores que esto margem da alta
cultura. Coloca-se a problemtica do internacionalismo e da reforma social pensada como um
processo de educao das massas trabalhadoras
no sentido de incorpor-las a uma cultura democrtica e laica que, no plano literrio, se combina
com um sistema de tradues (do realismo russo,
do realismo francs) e com uma potica humanista.
Entretanto, existe uma outra rua. Um espao simblico que aparece hipersemiotizado em quase
todos os escritores argentinos dos anos vinte e
Oliverio Girondo, Veinte poemas para ser ledos en
tranva, em Obras Completas,
Buenos Aires: Losada, 1990,
segunda edio [Primeira
edio: Paris: Edio do autor, 1922]; Ral Gonzlez
Tuon, El violn del diablo,
Buenos Aires: Glizer, 1926, y
Miercoles de Ceniza, Buenos
Aires: Glizer, 192; Jorge Luis
Borges, Poemas (1922-193),
Buenos Aires: Losada, 1943;
Roberto Arlt, El juguete
rabioso, Los siete locos, Los
lanzallamas y El amor brujo,
em Obras Completas, Buenos
Aires: Carlos Lohl, 1981.
14
trinta, de Oliverio Girondo a Ral Gonzlez Tuon,
passando por Arlt e Borges14. Na rua se percebe o
tempo como histria e como presente: se, por um
lado, a rua a prova da mudana, por outro, pode
converter-se nos sustento material pelo qual a
transformao se converte em mito literrio. E mais
ainda, a rua atravessada pela eletricidade e pelo
bonde pode ser negada para se buscar por detrs
dela o resto de uma rua que quase no teria sido
tocada pela modernizao, esse lugar imaginrio
do subrbio inventado por Borges segundo a figura
das orillas, espao indefinido entre a cidade e o
campo. fascinao da rua central onde se encontram os aristocratas com as prostitutas, onde o
vendedor de jornal desliza o papelote de cocana
para seus clientes, onde os poetas freqentam os
mesmos bares que os delinqentes e os bomios;
se ope a nostalgia da rua de bairro, onde a cidade
resiste aos estigmas da modernidade, ainda que o
bairro mesmo tenha sido um produto da modernizao urbana.
As revistas e os magazines do tipo Caras y Caretas
(surgida no final do sculo 19) se modernizam,
articulando discursos e informaes de diferentes
tipos que tendem a apresentar um mundo simblico
relativamente integrado, no qual vo encontrando
seus lugares o cinema, a literatura, a cano popular,
as notas da vida cotidiana, a moda e os quadrinhos.
Os folhetins sentimentais e os magazines definem
um horizonte desejvel, proporcionam modelos
de felicidade, e trabalham para e sobre um pblico
que comea a consumir literatura (um pblico
surgido do bem sucedido processo de alfabetizao)
e, em parte atravs dela, a sonhar os sonhos
modernos do cinema, da moda, do conforto cosmopolita, do universo de exibio mercantil das
grandes lojas, dos grandes restaurantes e teatros.
O prazer o motor desta literatura de quiosques,
que legitima tanto o gozo ertico como o sentimentalismo e a fantasia. Os produtos culturais
tambm se misturam e contribuem tanto para a
ampliao como para a instabilidade do sistema:
emprstimos, influncias, passagens de um nvel a
outro, diferentes interpelaes a um pblico tambm identificado culturalmente de modo diverso.
Por outro lado, a heterogeneidade desse espao
r sco
4 2[2006
pblico (que se acentua no caso argentino pelos
novos cruzamentos culturais e sociais provocados
pela mudana demogrfica) pe em contato diferentes nveis de produo literria, estabelecendo-
Mas essa mesma heterogeneidade perturbadora.
Os grandes jornais modernos, como Crtica e El
Mundo (fundados em 1913 e 1927 respectivamente), o cinema, as variedades e o teatro falam
se um sistema extremamente fludo de circulao
e troca esttica. H uma presena forte e definida
de pblicos diferentes, o que significa transferir
esfera cultural a trama que articula velhos criollos,
transcrio
90
Modernidade e mescla cultural
imigrantes e filhos de imigrantes. Estas superposies
e coexistncias despertam nacionalismos e
xenofobias, e sustentam o sentimento de nostalgia
por uma cidade que j no mais a mesma em
1920, quando comparada s imagens de um passado
recente.
Uma pesquisa excelente
dos usos sociais dos saberes
paracientficos pode ser encontrada em: Robert Darnton,
Mesmerism and the End of
the Enlightenment in France,
Cambridge (Mass.): Harvard
University Press, 1968. Sobre
os usos sociais das verses cientficas, ver tambm: Lynn
Merrill, The Romance of
Victorian Natural History ,
Nova York-Oxford: Oxford
University Press, 1989.
15
r sco
4 2[2006
Trivialliteratur) faz com que a literatura mesma j
no aparea como uma entidade singular, mas como
um sistema que inclui, em suas polticas e estratgias
textuais, os diferentes atores. Trata-se, sem dvida,
de literaturas, cujo plural indica diferenas de
problematizao esttica e diversos universos de
pblico leitor.
Buenos Aires pode ser lida com um olhar retrospectivo que focaliza um passado mais imaginrio
Veja-se o caso de Roberto Arlt. A crtica tem se
que real (e este o caso do primeiro Borges) ou
descoberta na emergncia de uma cultura operria
e popular: o bairro pobre, os portos e as viagens, a
prostituio, a boemia e o internacionalismo; o
debruado sobre o vnculo entre suas novelas e o
folhetim, representado de maneira direta ou figurada
em El juguete rabioso (1926). Mas ao mesmo tempo,
e no apenas neste livro, Arlt exibe sua relao
capitalismo transformou profundamente o espao
urbano e complexificou o sistema cultural, isso
comea a ser vivido no s como um problema,
mas como um tema esttico, perpassado pelo
com a alta literatura e com os novos textos e
prticas da tcnica e da cincia, da qumica, da
fsica, e desses simulacros de cincia popular que
circulavam ento por Buenos Aires, sob os rtulos
conflito de programas e poticas que alimentam
as batalhas da modernidade, algumas delas desenvolvidas segundo sua forma vanguardista: o realismo
humanista se contrape ao ultrasmo, mas tambm
de hipnotismo, mesmerismo, transmisso teleptica,
etc. No se pode pensar a escrita de Arlt, nem os
desejos de seus personagens, se no se faz referncia
a estes saberes del pobre, aprendidos em manuais
se contrapem discursos com funes distintas (o
jornalstico e o ficcional, o poltico e o ensastico).
baratos, em bibliotecas populares que funcionavam
em todos os bairros, em oficinas de inventores
descabelados que haviam sofrido o deslumbramento da eletricidade, da fuso dos metais, da
Os debates sobre legitimao cultural atravessam
as revistas literrias dos anos vinte: os criollos
viejos no esto dispostos a admitir facilmente
que uma lngua literria possa ser produzida tam-
O universo de referncias se complexifica ainda
bm por escritores cujos pais no haviam nascido
na Argentina, cujo sotaque era dos bairros, marginal,
e incorporava marcas de origem migratria. A
densidade cultural e ideolgica do perodo
mais quando se l El amor brujo (1932), novela
escrita como crtica da mitologia sentimental e da
moral das camadas mdias. Arlt usa precisamente
os recursos e artifcios da literatura de folhetim
produto destas diferentes redes e da interseco
de discursos com origem e matriz diferentes (da
pintura cubista ou da poesia de vanguarda ao
tango, ao cinema, musica moderna ou ao jazz-
sentimental (que circulava em milhares nas colees
semanais) para critic-la. Na verdade, poderia afirmarse que Arlt toma e destri seu gender system, seu
modelo de felicidade, sua ideologia romntica e
band).
suas posies sexistas, seu saber acerca da sociedade,
do casamento, do dinheiro e da psicologia do amor.
galvanizao, do magnetismo15.
Para reconstruir esta trama em termos de uma
cultura vivida, preciso redefinir o lugar da literatura
A atitude de Arlt diante da literatura sentimental,
no campo da cultura e reconhecer os novos nexos
que se estabelecem entre a dimenso cultural e a
scio-poltica. No se trata de dizer que todas as
perspectivas tenham se fundido numa unidade
que combina a sua utilizao e a recusa, pode ser
encontrada tambm como forma em Aguafuertes
porteas, que ele publica no jornal El Mundo durante
mais de dez anos. Nestes textos breves se articula o
improvvel, mas sim de considerar os textos da
cultura no novo sistema de oportunidades aberto
por uma esfera pblica modernizada e no marco
de uma cidade afetada pelas novas tecnologias. E,
aprendizado da prtica do jornalismo s estruturas
narrativas da fico. Na verdade, Arlt inventa microestruturas que contm intrigas miniaturizadas e
esboos de personagens, com os tpicos da baixa
alm disso, a heterogeneidade dos discursos (da
publicidade ao jornalismo, da poesia
classe mdia urbana citados e ao mesmo tempo
criticados a partir de uma estratgia que exibe seu
transcrio
91
Modernidade e mescla cultural
cinismo. Mas h muito mais: Arlt visita a cidade
como ningum havia feito at esse momento. Vai
de uma sociedade estratificada. As clivagens sociais
se representaram ou se distorceram no campo
as prises e aos hospitais, critica os costumes sexuais
das mulheres da classe mdia baixa e a instituio
matrimonial, denuncia a mesquinhez da pequena
burguesia e a ambio que corri os setores mdios
intelectual e estiveram presentes nos conflitos
institucionais e estticos. Os intelectuais se moveram
no espao da cultura como se os enfrentamentos
que ali se produziam fossem captulos importantes
em ascenso, estigmatiza a estupidez que descobre
na famlia burguesa.
de um processo no qual, de algum modo, estivesse
em jogo. Frente heterogeneidade, houve reaes
diferentes: a defesa de uma elite do esprito que
poderia converter-se em instrumento de purificao
As operaes de recorte, mistura e transformao
levadas a cabo por Arlt falam tambm dos processos
de constituio de um escritor e seu discurso. Para
colocar numa perspectiva mais geral: a formao
do escritor atravs de modalidades no tradicionais
que incluem, em seu centro, o jornalismo e as
diferentes verses da literatura popular. Ambas
escrituras, originadas na nova indstria cultural,
pressupem a emergncia de pblicos no tradicionais, e em conseqncia, de pactos de leitura
e de novos pactos de gnero. Com estas marcas, a
subjetividade do escritor passa por processos
Afetados pela mudana, imersos numa cidade que
j no era a da sua infncia, obrigados a reconhecer
a presena de homens e mulheres que, ao serem
diferentes, fraturavam uma unidade originria
imaginada, sentindo-se distintos, noutros casos,
das elites letradas de origem hispano-criollas, os
O debate e a pergunta
intelectuais de Buenos Aires tentaram responder,
de maneira figurada ou diretamente, a uma pergunta
que organizava a ordem do dia: como aceitar (ou
como aniquilar) a diferena de saberes, de valores
cidade moderna um espao privilegiado onde as
formas concretas e simblicas de uma cultura em
processo de mudana se organizam na malha densa
4 2[2006
inveno de um passado; o reconhecimento do
presente como diverso e a aposta de que seria
possvel, a partir dessa diversidade, construir uma
cultura.
contraditrios: Arlt detesta e ao mesmo tempo
defende e necessita o jornalismo; despreza e corteja
seus leitores; inveja e refuta os valores legitimados
pela alta cultura.
Ideologias polticas, estticas e culturais se enfrentam neste debate que tem Buenos Aires como
cenrio e, com freqncia, como protagonista. A
r sco
ou, ao menos, de denncia do carter artificial e
viciado da sociedade argentina; o recurso a mitos
e figuras do passado que poderiam reestruturar as
relaes presentes, o que muitas vezes implicou a
e de prticas? Como construir uma hegemonia para
o processo no qual todos participavam, com os
conflitos e as incertezas de uma sociedade em
transformao?
transcrio
92
Você também pode gostar
- Vinoth Ramachandra A Falencia Dos Deuses PDFDocumento283 páginasVinoth Ramachandra A Falencia Dos Deuses PDFEden SerranoAinda não há avaliações
- Livro UnicoDocumento216 páginasLivro UnicoEdfrancis Nery Azevedo100% (1)
- VOEGELIN, Eric. A Natureza Do Direito e Outros Textos Jurídicos. Lisboa. Vega, 1998.Documento94 páginasVOEGELIN, Eric. A Natureza Do Direito e Outros Textos Jurídicos. Lisboa. Vega, 1998.Dionisio100% (1)
- Uma Resenha de o Atlântico NegroDocumento3 páginasUma Resenha de o Atlântico Negrosonia mendesAinda não há avaliações
- O Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezNo EverandO Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezAinda não há avaliações
- Lúcio Cardoso, Cornélio Penna e a retórica do Brasil profundoNo EverandLúcio Cardoso, Cornélio Penna e a retórica do Brasil profundoAinda não há avaliações
- Fiama Antologia - AMAGODocumento97 páginasFiama Antologia - AMAGOMoiiicaAinda não há avaliações
- As Mutações Da Literatura No Século XXI (Leyla Perrone)Documento7 páginasAs Mutações Da Literatura No Século XXI (Leyla Perrone)GuilhermeFreitas100% (1)
- Poesia Concreta, Tropicália e Poesia MarginalDocumento32 páginasPoesia Concreta, Tropicália e Poesia MarginalMoiiica100% (1)
- Modernismo e Regionalismo No Brasil PDFDocumento24 páginasModernismo e Regionalismo No Brasil PDFFabiane LouiseAinda não há avaliações
- Flora Sussekind. A Crítica Como Papel de BalaDocumento4 páginasFlora Sussekind. A Crítica Como Papel de BalaMoiiica100% (1)
- Vanguardas Latino Americanas - Jorge SchwartzDocumento4 páginasVanguardas Latino Americanas - Jorge SchwartzGiseleRodriguesAinda não há avaliações
- O Modernismo e A Questão NacionalDocumento6 páginasO Modernismo e A Questão NacionalMichel Rocha NunesAinda não há avaliações
- Cidade e UrbanidadeDocumento9 páginasCidade e UrbanidadeBinô ZwetschAinda não há avaliações
- Introdução À SociologiaDocumento21 páginasIntrodução À SociologiaVitor Bortoleto100% (2)
- Tese PDFDocumento366 páginasTese PDFManusAinda não há avaliações
- Modernismos em modernidades incipientes: Mário de Andrade e Almada NegreirosNo EverandModernismos em modernidades incipientes: Mário de Andrade e Almada NegreirosAinda não há avaliações
- Cidade e História - José DAssunção BarrosDocumento125 páginasCidade e História - José DAssunção Barrosdejalmafr100% (2)
- Orfeu Extático Na MetrópoleDocumento10 páginasOrfeu Extático Na MetrópoleSilvio AzevedoAinda não há avaliações
- Entrevista Com Otília ArantesDocumento44 páginasEntrevista Com Otília ArantesSaulo Lance ReisAinda não há avaliações
- 1996 - O Espetáculo Da Rua 2ed PDFDocumento100 páginas1996 - O Espetáculo Da Rua 2ed PDFAna Paula Gomes Bezerra100% (5)
- Recuperação Avaliação 8º CDocumento1 páginaRecuperação Avaliação 8º CBeatrizJacintodeAlmeida100% (2)
- Artigo Colóquio Habermas 2016 Rio de Janeiro PDFDocumento579 páginasArtigo Colóquio Habermas 2016 Rio de Janeiro PDFCharles Feldhaus100% (1)
- O Que e Uma Educacao Decolonial PDFDocumento4 páginasO Que e Uma Educacao Decolonial PDFAnaAinda não há avaliações
- NietzscheDocumento56 páginasNietzscheWelton OliveiraAinda não há avaliações
- A Cidade Como Objeto de Estudo - Diferentes Olhares Sobre o UrbanoDocumento4 páginasA Cidade Como Objeto de Estudo - Diferentes Olhares Sobre o UrbanoHebert LimaAinda não há avaliações
- BORA, Zélia FREITAS, M. N. Negrismo e Modernismo. A Crítica Cultural de Raul Bopp em UrucungoDocumento14 páginasBORA, Zélia FREITAS, M. N. Negrismo e Modernismo. A Crítica Cultural de Raul Bopp em UrucungoVitor DiasAinda não há avaliações
- Cidade e CulturaDocumento4 páginasCidade e CulturaBeto CavalcanteAinda não há avaliações
- LAFETÁ, João Luiz. Estética e Ideologia - o Modernismo em 1930. in A Dimensão Da NoiteDocumento7 páginasLAFETÁ, João Luiz. Estética e Ideologia - o Modernismo em 1930. in A Dimensão Da NoiteKamila BorgesAinda não há avaliações
- 2 - Imaginando A Democracidade - Carlos FortunaDocumento10 páginas2 - Imaginando A Democracidade - Carlos FortunaJulia O'DonnellAinda não há avaliações
- A Cidade A Literatura e Os Estudos1Documento12 páginasA Cidade A Literatura e Os Estudos1RodrigoAinda não há avaliações
- Historia Cultura Portugal - ResumosDocumento64 páginasHistoria Cultura Portugal - ResumosAna Beatriz Alves MartinsAinda não há avaliações
- Pallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneosDocumento195 páginasPallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneospaollaclayrAinda não há avaliações
- Metrópole e CulturaDocumento14 páginasMetrópole e CulturaMarli RodriguesAinda não há avaliações
- Modernismo e A Questão Nacional PDFDocumento4 páginasModernismo e A Questão Nacional PDFAriany Ribeiro AmorimAinda não há avaliações
- Orfeu Extático Na MetrópoleDocumento11 páginasOrfeu Extático Na MetrópoleSilvio AzevedoAinda não há avaliações
- Regina Silveira e Os Anos 1970: A Encruzilhada Da Cultura de Massa e Do Meio Urbano No BrasilDocumento18 páginasRegina Silveira e Os Anos 1970: A Encruzilhada Da Cultura de Massa e Do Meio Urbano No BrasilTatiana FerrazAinda não há avaliações
- Reinventando Relações - Cultura e História Nos Dilemas Contemporâneos Da Arquitetura e Do UrbanismoDocumento12 páginasReinventando Relações - Cultura e História Nos Dilemas Contemporâneos Da Arquitetura e Do UrbanismocamilacfAinda não há avaliações
- 103-Manuscrito de Livro-195-3-10-20210710Documento185 páginas103-Manuscrito de Livro-195-3-10-20210710Artigos do CursoAinda não há avaliações
- Caricatura Henfil Vanguarda e A Arte EngDocumento8 páginasCaricatura Henfil Vanguarda e A Arte Engdai77Ainda não há avaliações
- 2.artigo - Monica Pimenta Velloso PDFDocumento19 páginas2.artigo - Monica Pimenta Velloso PDFdany8309Ainda não há avaliações
- Reflexão Sobre o Conceito de ModernismoDocumento5 páginasReflexão Sobre o Conceito de ModernismoJuliana Santos de SousaAinda não há avaliações
- Teorias Urbanas e o Planejamento Urbano No BRDocumento27 páginasTeorias Urbanas e o Planejamento Urbano No BRJairo GomesAinda não há avaliações
- As Teorias Urbanas E O Planejamento Urbano No Brasil: Related PapersDocumento28 páginasAs Teorias Urbanas E O Planejamento Urbano No Brasil: Related PapersLUCAS ROLIMAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura - Gorelik (ESP)Documento3 páginasFicha de Leitura - Gorelik (ESP)liarocha08Ainda não há avaliações
- Regina Silveira e Os Anos 1970: A Encruzilhada Da Cultura de Massa e Do Meio Urbano No BrasilDocumento18 páginasRegina Silveira e Os Anos 1970: A Encruzilhada Da Cultura de Massa e Do Meio Urbano No BrasilFortunio FortuniAinda não há avaliações
- VALLADARES, Lícia. A Gênese Da Favela PDFDocumento30 páginasVALLADARES, Lícia. A Gênese Da Favela PDFGuilherme BorgesAinda não há avaliações
- 9160-Article Text-25978-1-10-20160502Documento11 páginas9160-Article Text-25978-1-10-20160502Jose Octavio Llopis HernandezAinda não há avaliações
- Estado Desenvolvimento e Arq Moderna 59-63Documento14 páginasEstado Desenvolvimento e Arq Moderna 59-63Thiago LópezAinda não há avaliações
- Prova UcssDocumento11 páginasProva UcssMetalúrgicaFabroAinda não há avaliações
- 3110-Texto do Artigo-7263-1-10-20080920Documento14 páginas3110-Texto do Artigo-7263-1-10-20080920Carlos Roberto JúniorAinda não há avaliações
- Movimento - AntropofagicoDocumento3 páginasMovimento - AntropofagicoSemler ElianeAinda não há avaliações
- Histórias de hipsters: moda e performatismo em territórios pós-coloniaisNo EverandHistórias de hipsters: moda e performatismo em territórios pós-coloniaisAinda não há avaliações
- Morse Cidades Periféricas 2004-3483-1-PB PDFDocumento21 páginasMorse Cidades Periféricas 2004-3483-1-PB PDFBinhaAinda não há avaliações
- Ana Carolina Soares Ferreira de LimaDocumento17 páginasAna Carolina Soares Ferreira de LimaAndrea de SouzaAinda não há avaliações
- O Modernismo Brasileiro: Outros Enredos, Personagens e PaisagensDocumento15 páginasO Modernismo Brasileiro: Outros Enredos, Personagens e PaisagensJanaArqueoAinda não há avaliações
- 2 2 Artigo-ArrovaniDocumento15 páginas2 2 Artigo-ArrovaniAndré MarcosAinda não há avaliações
- O Debate Decolonial: TerritóriosDocumento12 páginasO Debate Decolonial: TerritórioslpmnameAinda não há avaliações
- RESENHA - PESAVENTO, Sandra Jatahy. O Imaginário Da Cidade. Visões Literáriasdo UrbanoDocumento5 páginasRESENHA - PESAVENTO, Sandra Jatahy. O Imaginário Da Cidade. Visões Literáriasdo Urbanopriscila müller leriasAinda não há avaliações
- HelioDocumento27 páginasHelioju schi0% (1)
- Requalificação Urbana Através Da Habitação de Interesse SocialDocumento3 páginasRequalificação Urbana Através Da Habitação de Interesse Socialletícia vieiraAinda não há avaliações
- Literatura e Engajamento Nas Margens Enoch Carneiro Um Estudo de CasoDocumento11 páginasLiteratura e Engajamento Nas Margens Enoch Carneiro Um Estudo de CasoMarcos AraújoAinda não há avaliações
- Resenha Saskia SassenDocumento7 páginasResenha Saskia SassenDelgadoAinda não há avaliações
- A Emergencia Da Reflexao Sobre A CidadeDocumento1 páginaA Emergencia Da Reflexao Sobre A CidadeAlex SandroAinda não há avaliações
- O Pré-Modernismo e João Do RioDocumento7 páginasO Pré-Modernismo e João Do RiogustavojaAinda não há avaliações
- Violão AzulDocumento5 páginasViolão AzulPedro FurtadoAinda não há avaliações
- Choay 1999 PDFDocumento24 páginasChoay 1999 PDFLeandro TeixeiraAinda não há avaliações
- Ortiz, Renato. As Ciências Sociais e A CulturaDocumento14 páginasOrtiz, Renato. As Ciências Sociais e A CulturaElisa ShihAinda não há avaliações
- Da Antropofagia À Tropicália - Carlos ZilioDocumento34 páginasDa Antropofagia À Tropicália - Carlos ZiliobatcavernaAinda não há avaliações
- A Modernidade No Vale Do Cotinguiba RevisadoDocumento66 páginasA Modernidade No Vale Do Cotinguiba RevisadoMárcia Barbosa GuimarãesAinda não há avaliações
- CULTURA POPULAR-vivian catenacciDocumento15 páginasCULTURA POPULAR-vivian catenacciTiffany SouzaAinda não há avaliações
- 2169-Texto Do Artigo-8553-1-10-20190501Documento19 páginas2169-Texto Do Artigo-8553-1-10-20190501samantha gomesAinda não há avaliações
- Cidades Ideais, Cidades Reais: Construções ImagináriasDocumento4 páginasCidades Ideais, Cidades Reais: Construções ImagináriasUrsulad'AlmeidaAinda não há avaliações
- 3686-14568-1-PB Josef - Modernismo BrasileñoDocumento18 páginas3686-14568-1-PB Josef - Modernismo BrasileñoornebAinda não há avaliações
- Raciliano Ramos Por Otto Maria Carpeaux:: Anos Homenagem em DobroDocumento6 páginasRaciliano Ramos Por Otto Maria Carpeaux:: Anos Homenagem em Dobrospoudaios777Ainda não há avaliações
- Minha Vida Daria Um RomanceDocumento16 páginasMinha Vida Daria Um RomanceMoiiicaAinda não há avaliações
- FICHAMENTO - Dossiê Maffesoli - Revista LogosDocumento20 páginasFICHAMENTO - Dossiê Maffesoli - Revista LogosEliane MacedoAinda não há avaliações
- Sociedade Líquida e Formação de Cidadãos RedundantesDocumento12 páginasSociedade Líquida e Formação de Cidadãos RedundantesALFA123#Ainda não há avaliações
- Resumo Do Capítulo "Guarda-Caças Que Se Tornaram Jardineiros" Do Livro "Legisladores e Intérpretes" de Zygmunt BaumanDocumento3 páginasResumo Do Capítulo "Guarda-Caças Que Se Tornaram Jardineiros" Do Livro "Legisladores e Intérpretes" de Zygmunt BaumanMariana VianaAinda não há avaliações
- Anatomia Da Interdicao BNCCDocumento328 páginasAnatomia Da Interdicao BNCCandreAinda não há avaliações
- Modernidade LiquidaDocumento1 páginaModernidade LiquidaLuidy DavidAinda não há avaliações
- Course Status - AVADocumento8 páginasCourse Status - AVAmarcioAinda não há avaliações
- ILUMINISMO. SILVA, Kalina. SILVA, Maciel. Dicionário de Conceitos Históricos (2010)Documento5 páginasILUMINISMO. SILVA, Kalina. SILVA, Maciel. Dicionário de Conceitos Históricos (2010)anammcAinda não há avaliações
- La Venganza! Estrategias Sapas Pornoterroristas Desestabilizadoras de Normativas Heterossexistas e RacistasDocumento104 páginasLa Venganza! Estrategias Sapas Pornoterroristas Desestabilizadoras de Normativas Heterossexistas e RacistasKaya Fernanda VallimAinda não há avaliações
- Interdisciplinaridade e Transversalidade Mediante Projetos Temáticos (Silvia Elizabeth Moraes)Documento17 páginasInterdisciplinaridade e Transversalidade Mediante Projetos Temáticos (Silvia Elizabeth Moraes)pesquisadora22Ainda não há avaliações
- Consequencias Psicossomáticas Das Relações de TrabalhoDocumento58 páginasConsequencias Psicossomáticas Das Relações de TrabalhosergiorabassaAinda não há avaliações
- Emancipação, Estou AQUIDocumento6 páginasEmancipação, Estou AQUIJULIO OCIREU SOUZAAinda não há avaliações
- ANTROPOLOGIADocumento4 páginasANTROPOLOGIAEstefane GabriellyAinda não há avaliações
- Atividades de Artes PDFDocumento34 páginasAtividades de Artes PDFMaria Angélica Silva100% (1)
- TerapiasPs Modernas Umpanorama MarileneGrandessoDocumento23 páginasTerapiasPs Modernas Umpanorama MarileneGrandessoTatiane Andrade DiasAinda não há avaliações
- Melanie Klein e A Feminilidade - Marcos KlipanDocumento286 páginasMelanie Klein e A Feminilidade - Marcos KlipanMarcos KlipanAinda não há avaliações
- Identidade Cultural Na Era Da GlobalizaçãoDocumento16 páginasIdentidade Cultural Na Era Da GlobalizaçãoEminha AlmaAinda não há avaliações
- Robert Kurz - Ontologia Negativa PDFDocumento16 páginasRobert Kurz - Ontologia Negativa PDFMatematica GaussianaAinda não há avaliações
- Sociedade de Consumo em Zygmunt Bauman e Gilles LipovetskyDocumento15 páginasSociedade de Consumo em Zygmunt Bauman e Gilles LipovetskyLuisa LimaAinda não há avaliações